



Biblio VT




Depois de 20 anos da saída do colégio, um ex-aluno rememora em detalhes aquela época de sua vida e de
seus colegas, numa perspectiva em que se fica conhecendo mais os outros do que o próprio narrador. Este se
movimenta entre o passado e o presente, somando às lembranças a realidade adulta de muitos dos "
meninos". A vida os dispersou e, entre eles, agora só existe em comum as experiências e a nostalgia do Valvert.
Situado nos arredores de Paris, o colégio de Valvert recebe alunos internos, filhos um tanto abandonados de famílias abastadas ou não, instáveis ou
mesmo suspeitas. Estudando e desfrutando dos parques e bosques do colégio, praticando esportes, assistindo a sessões de cinema, convivendo nas folgas
dos finais de semana, os "meninos" criam laços de amizade entre si e com seus pitorescos professores. Com o passar do tempo, a vida os dispersa.
Vinte anos passados, um ex-aluno do Valvert - o narrador - reconstitui a antiga atmosfera do colégio, graças a sua aguçada memória, ao mesmo
tempo que, movido por sua curiosidade, faz uma espécie de pesquisa sobre o rumo da vida de alguns de seus antigos colegas.
As lembranças que são um ponto de união entre os meninos se contrapõem ao presente, que cada um deles vive sem traços em comum. Os dois
tempos se fundem numa realidade feita de sonho e nostalgia.
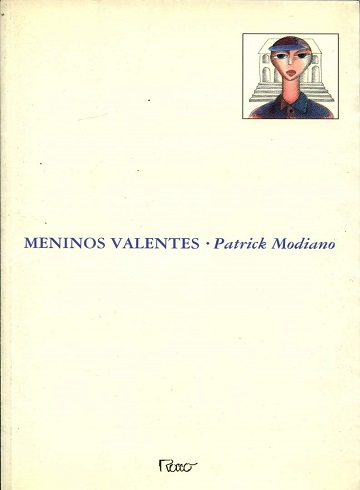
Uma larga aléia de cascalho subia suavemente até o Castelo. Mas logo em seguida, à sua direita, à frente do bangalô da enfermaria, você se espantaria, da primeira vez, com aquele mastro branco no topo do qual flutuava uma bandeira francesa. Nesse mastro, toda manhã, um de nós içava a bandeira depois do Sr. Jeanschmidt lançar a ordem:
- Seções, alerta!
A bandeira subia lentamente. O Sr. Jeanschmidt também batia continência. Sua voz grave rompia o silêncio.
- Repousar... Meia-volta à esquerda... À frente, marchar!
A passo cadenciado andávamos ao longo da grande aléia até o Castelo.
Acredito que o Sr. Jeanschmidt queria nos habituar, a nós, que éramos filhos do acaso e de lugar nenhum, aos benefícios de uma disciplina e ao conforto de uma pátria.
Em onze de novembro participávamos das cerimônias do vilarejo. Reuníamo-nos em filas na esplanada do Castelo, todos vestidos de blazer azul-marinho e gravata de
tricô da mesma cor. "Pedro" Jeanschmidt - nós apelidamos nosso diretor de Pedro - dava o sinal de partida. Descíamos a aléia marchando. Pedro abria a marcha, seguido
dos alunos por ordem de tamanho decrescente. À frente de cada turma, os três maiores: um levava um
ramo de flores; o outro, a bandeira francesa; e o terceiro, o estandarte da nossa escola - azul-noite, com um triângulo dourado. A maioria dos meus colegas cumpriu
este ofício de porta-bandeira: Etchevarietta, Charell, McFowles, Desoto, Newman, Karvé, Moncef ei Okbi, Corcuera, Archibald, Firouz, Monterey, Coemtzopoulos, que
era metade grego, metade etíope... Passávamos o portão, depois a velha ponte de pedra sobre o Bièvre. Diante da prefeitura do vilarejo, que tinha sido outrora residência
do tintureiro Oberkampf, sua estátua em bronze esverdeado erguia-se sobre uma base de mármore e, com seu olho vazado, ele nos via desfilar. Em seguida, a passagem
de nível. Quando estava fechada e a campainha anunciava um trem, ficávamos imóveis, batendo continência. A cancela se levantava rangendo e Pedro fazia com o braço
um gesto brusco, qual um guia montanhês. Retomávamos nossa marcha. Ao longo da rua principal do vilarejo, as crianças aplaudiam como se fôssemos soldados de uma
legião estrangeira íamos nos reunir aos ex-combatentes, concentrados na praça da igreja. Pedro, com uma ordem seca, nos punha de novo de continência. E cada aluno
portador de flores vinha depositálas ao pé do Monumento aos Mortos.
O colégio de Valvert ocupava a antiga propriedade de um tal de Valvert, que foi amigo do conde de Artois e o acompanhou na Emigração. Mais tarde, oficial do exército
russo, morreu na batalha de Austerlitz lutando contra seus compatriotas no uniforme do regimento Izmailovski. Dele restava apenas o nome, e, no fundo do parque,
uma coluna de mármore rosa meio desmoronada...
Meus colegas e eu fomos educados sob o melancólico patronato daquele homem e talvez alguns entre nós, mesmo sem saber o nome, ainda guardem essa marca.
A casa de Pedro situava-se no início da aléia, recuada, ao lado oposto ao mastro e à enfermaria. Aquela cabana de matizes envernizados nos evocava a casa da Branca
de Neve e dos Sete Anões. Um jardim à inglesa, impecavelmente mantido pelo próprio Pedro, a rodeava.
Recebeu-me em sua casa uma única vez, na noite da minha fuga. Eu vagara longas horas pelos Champs-Elysées, buscando alguma coisa, até resolver voltar para o colégio.
O supervisor do estudo me disse que Pedro estava me esperando.
Os móveis brilhando de encáustica, o lajeado, as louças, as janelas de pequenos quadrados pintados eram os de um interior holandês. Uma única lâmpada iluminava o
cômodo. Pedro estava sentado atrás de uma escrivaninha antiga de madeira escura. Fumava cachimbo.
- Por que o senhor fugiu esta tarde? Está infeliz aqui? A pergunta me surpreendeu.
- Não... Não exatamente infeliz.
- Vou passar uma borracha. Mas vou lhe tirar a saída. Ficamos alguns minutos os dois, face a face em silêncio, Pedro
soprando pensativamente a fumaça do seu cachimbo. Acompanhou-me até a porta.
- Não faça outra vez.
Fixou em mim um olhar triste e afetuoso.
- Se tiver vontade de falar, me procure. Não quero que fique infeliz.
Eu tinha andado ao longo da aléia na direção do Castelo e me virei. Pedro se mantinha imóvel no alpendre da cabana. De hábito, tudo nele respirava força o granito
do rosto de montanhês, a silhueta rechonchuda, o cachimbo, o sotaque
de Vaud Mas naquela noite, pela primeira vez, ele me pareceu preocupado. Por causa da minha fuga? Talvez pensasse em nosso futuro, quando tivéssemos deixado o reino
de Valvert, onde era o regente - reino ameaçado neste mundo cada vez mais duro e incompreensível - e ele, Pedro, nada mais poderia fazer por nós.
A aléia principal cortava o grande gramado onde passávamos os recreios da tarde e da noite e onde se disputavam partidas de hóquei. No fundo do gramado, na direção
do muro, erguia-se um fortim da altura de um prédio, vestígio da guerra, durante a qual o colégio tinha servido de estado-maior para a Luftwaffe. Atrás, um caminho
ladeava o muro e levava à casa de Pedro e ao portão. Um pouco abaixo do fortim, um laranjal havia sido transformado em ginásio.
freqüentemente, em meus sonhos, sigo a aléia principal até o Castelo, tendo à direita uma tenda marrom: o vestiário onde colocávamos os trajes de esporte. Por fim,
chego à esplanada semeada de cascalho, à frente do Castelo, um edifício branco de dois andares, com escadaria exterior orlada de balaustrada. Tinha sido construída
no final do século XIX imitando o castelo de Malmaison. Galgo a escada, empurro a porta, que se fecha sozinha atrás de mim, e eis o saguão de lajes pretas e brancas
que dá acesso aos dois refeitórios.
a ala esquerda do Castelo, que chamávamos "a Nova Ala"
- Pedro a tinha mandado construir no final dos anos 50 -, descia um caminho até o pátio da Confederação, assim batizado pelo nosso diretor em homenagem à Suíça,
seu país natal. Em meus sonhos, não pego esse caminho, mas o labirinto, que nos estava proibido, e o qual só Pedro e os professores podiam usar. Tem estreito corredor
de verde, de trevos e jardins, bancos
de pedra e perfume de alfeneiro. O labirinto também desembocava no pátio da Confederação.
Era cercado, como a praça de um vilarejo, por casas nada harmônicas que abrigavam as salas de aula, os dormitórios ou os quartos, que compartilhávamos, em cinco
ou seis. Cada uma dessas casas tinha um nome: o Eremitério, com ares de residência campestre de fidalgo de Touraine; a Bela Jardineira, vila normanda com vigas de
madeira; o Pavilhão Verde; a Morada; a Nascente e seu minarete; o Ateliê; a Ravina e o Chalé, que se poderia tomar por um daqueles antigos hotéis alpinos de Saint-Gervais
que um milionário excêntrico tivesse mandado transportar, peça por peça, aqui para Seine-et-Oise. No fundo do pátio, numa antiga estrebaria encimada por um ornamento
em forma de torre, tinha-se arrumado uma sala de cinema e de teatro.
Nós nos reuníamos no pátio em torno do meio-dia e subíamos em fila para o Castelo para almoçar, ou a cada vez que Pedro queria nos anunciar alguma coisa importante.
Dizia-se: "concentração a tal hora, na Confederação" e só éramos capazes de entender essas palavras sibilinas.
Vivi em todas as casas daquele pátio e meu prédio preferido era o Pavilhão Verde. Devia seu nome à hera que lhe roía a fachada. Sob a varanda do Pavilhão Verde nos
refugiávamos nos dias de chuva, durante o recreio. Uma escada externa, com corrimão de madeira trabalhada, levava aos andares. O primeiro era ocupado por uma biblioteca.
Por muito tempo dividi um dos quartos do segundo com Charell, McFowles, Newman e o futuro comediante Edmond Claude.
Nas noites de primavera, no Pavilhão Verde, nos sentávamos para fumar, diante de uma grande janela aberta. Era preciso esperar até bem tarde que o colégio estivesse
adormecido. Podíamos optar entre duas janelas: uma dava para o pátio da Confederação onde às vezes Pedro fazia uma ronda, de robe
xadrez, cachimbo na boca; e a outra, menor, quase do tamanho de uma clarabóia, dominava uma estrada campestre ao longo da qual corria o Bièvre.
Edmond Claude e Newman queriam achar uma corda, com a ajuda da qual desceríamos o muro. McFowles e Charell tinham decidido que tomaríamos o trem cujo apito escutávamos
toda noite à mesma hora.
Mas para onde ia aquele trem?
II
Alguns dos nossos professores moravam em uma ou outra casa do pátio da Confederação e Pedro os tinha nomeado "capitães" desses prédios. Eram responsáveis por eles
e garantiam a disciplina com a ajuda de "aspirantes", alunos recrutados na segunda e na primeira séries. Estes faziam todas as noites "inspeções", verificando se
as camas estavam bem-feitas, os armários arrumados, os sapatos engraxados. Depois de as luzes se apagarem, às nove horas, os aspirantes cuidavam que ninguém voltasse
a acendê-las e que reinasse o silêncio.
O capitão do Pavilhão Verde era nosso professor de ginástica, o Sr. Kovnovitzine, que chamávamos de "Kovo". Ele não tinha aspirantes sob suas ordens. Nossos quartos
não eram inspecionados. Podíamos apagar a luz à hora que quiséssemos. O único perigo: que Pedro, durante sua ronda noturna, notasse a luz na nossa janela. Então
ele apitava como um agente da defesa civil.
Antes Kovo tinha sido professor de tênis e, a seus alunos preferidos, oferecia um dos antigos cartões de visita:
KOVNOVITZINE
Professor de tênis diplomado
Vila Diez-Monin, 8 Paris, 16a.
Aquele homem alto, de cabelo branco puxado para trás e perfil fino, usava calça branca de linho e vivia na companhia de um labrador que às vezes nos visitava em
nossos quartos. Insone, passava as noites a perambular pelo grande gramado do colégio. Da janela, eu o observava, por volta das duas ou três horas da manhã, atravessando
lentamente o pátio, o labrador na coleira. A calça branca produzia uma mancha fosforescente. Soltava o cachorro, que acabava fugindo, pois logo em seguida se escutava
Kovo o chamando:
- Chu-u-u-u-u-u-ra...
E esse chamado, incansavelmente repetido até a aurora, às vezes próximo, às vezes distante, ressoava como a queixa de um oboé.
Ignoro se o capitão Kovnovitzine continua passeando com o seu cão Chura. Só revi um dos nossos mestres uns dez anos depois de ter saído do colégio: Lafaure, o professor
de química. Pelo que me disseram, você também, Edmond, teve oportunidade de rever Lafaure...
Sim. Naquela noite, o público não tinha sido nem melhor nem pior que o dos outros vilarejos da província onde nossa turnê Baret fazia temporada. No entreato, trouxeram
ao minúsculo camarim que eu dividia com Sylvestre-Bel, um cartão de visita: "Caro Edmond Claude, seu antigo professor de química no colégio Valvert,
LAFAURE,
desejaria, se possível, jantar com você, após o espetáculo."
- Uma admiradora? - perguntou Sylvestre-Bel.
Eu não conseguia tirar os olhos daquele cartão de visita
amarelado, no meio do qual o nome LAFAURE estava gravado em letras cinza.
- Não. Um velho amigo de família.
E quando foi minha vez de entrar em cena por alguns minutos e cinco réplicas, ouvi do fundo do silêncio uma voz soprar nas primeiras fileiras: "Bravo! Bravo!"
Logo a reconheci: a voz sepulcral de Lafaure, que antigamente imitávamos na sala de aula e em função da qual o tínhamos apelidado de "o Morto".
Cinco batidas discretas, mas nítidas, na porta do nosso camarim. Parecia código Morse. Eu abro. Lafaure:
- Não estou incomodando?
Estava de pé à minha frente, o cabelo branco à escova, teso e tímido, num terno azul-marinho, de calças estreitas que caíam muito acima dos tornozelos e mostravam
dois enormes sapatos pretos com solas de crepe. No colégio usava sapatos parecidos, grandes demais e pesados demais, que lhe davam um andar lento de sonâmbulo.
Seu rosto tinha encolhido e rugas o amarrotavam, mas a pele era a mesma de antes de um branco calcário.
- Entre, Sr. Lafaure.
Naquele camarim exíguo, com duas caixas de papelão e Sylvestre-Bel sentado na única cadeira de palha, tirando a maquiagem, fiquei quase colado em Lafaure, que fechou
a porta ao entrar.
-Apresento-lhe meu antigo professor de química...
Sylvestre-Bel virou-se e cumprimentou Lafaure com um sinal altivo de cabeça. Por vaidade, não tinha tirado o topete com que aparecia em cena, e que o rejuvenescia
ainda mais: aos sessenta anos, podia fingir ter trinta e cinco, como certos americanos que permanecem, por força de bronzeado, higiene corporal e cuidados com a
beleza, mumificados em sua juventude.
-Achei o senhor muito bem - disse Lafaure.
E tirou do bolso do casaco o programa que folheou. Grandes fotografias da nossa estrela e do nosso diretor; depois, nas páginas seguintes, fotografias menores de
Sylvestre-Bel e dos outros comediantes, a minha, do tamanho de um selo.
- O senhor me faria um grande favor se autografasse - disse Lafaure a Sylvestre-Bel, estendendo-lhe o programa aberto na página da sua fotografia.
- Com prazer. Seu nome?
- Lafaure. Thierry Lafaure.
E enquanto meu camarada escrevia lentamente sua dedicatória: "Para o Sr. Thierry Lafaure, com toda a simpatia de Sylvestre-Bel", nos inclinávamos, Lafaure e eu,
por sobre seu ombro.
- Obrigado.
- Não é nada - disse Sylvestre-Bel, o busto curvado.
Não quis fazer meu ex-professor esperar, então desisti de tirar a maquiagem. Saímos os dois do teatro. Caía uma chuva fina.
- Fiz uma reserva no Armes de la Ville - disse Lafaure. - É o único lugar que fica aberto depois das dez.
Andávamos; ele, naquele andar teso que tinha no colégio e eu, de cabeça baixa, com medo que minha maquiagem escorresse na chuva. O barulho da sucção das suas solas
e seu sobretudo de um amarelo descolorado completavam sua aparência de espectro.
- Está em que hotel? - perguntou.
- No Armorie.
- E vai embora amanhã? -Vou, no ônibus da turnê.
- É pena que não fique mais tempo...
Seu passo se dilatava como o de um boneco mecânico em que se acabasse de dar corda e eu tinha medo de perdê-lo. O casaco amarelo e o gemido regular das solas de
crepe eram meus únicos pontos de referência na escuridão. De repente, a fachada envidraçada de um grande restaurante deserto. Seus espelhos, madeiras e couros cintilavam
sob a luz de lâmpadas dentro de globos de vidro.
- Reservei uma mesa para duas pessoas - disse Lafaure, na sua voz de além-túmulo, a um homem de bigode castanho, atrás do bar.
O homem fez um gesto largo com o braço em direção às mesas vazias.
- Como está vendo, pode escolher.
Lafaure me levou em direção a uma das mesas do fundo.
- Aqui ficamos em paz - disse-me.
Mais adiante, de uma porta dupla com os batentes abertos, saíam nuvens de fumaça, explosões de voz e riso. De vez em quando, uma silhueta armada de um taco de bilhar
passava no enquadramento da porta.
- Eu também às vezes jogo esse jogo - disse-me, com tristeza, Lafaure. - Não existe muita distração aqui.
Tive dificuldade de imaginar Lafaure jogando bilhar. Como é que ele, tão ereto, se inclinava? Suponho que o corpo se quebrava em oitenta graus, com um rangido de
guindaste, e que apoiava o queixo na borda da mesa para se manter na posição até o momento de empurrar a bola.
- Eu queriapissaladière - diz ele. - E você?
- Eu também.
- São excelentes aqui.
Um jovem de uns vinte anos, de cabelo louro cacheado e olhos verdes, estava plantado diante da nossa mesa e esperava o pedido, de braços cruzados, examinando Lafaure
com um olhar irônico.
- Stéphane, o senhor nos traz duaspissaladières.
- Certo, Sr. Lafaure.
Stéphane curvou a cabeça cerimoniosamente e havia insolência naquele gesto exagerado demais.
- Um menino simpático - diz Lafaure. - Quer se educar. Dou-lhe livros de história para ler. É um pouco artista, como você... Queria se lançar no cinema.
Seu rosto crispou-se. Aparentemente, o tema lhe era caro.
- Talvez tenha sucesso no cinema... Você não acha que ele tem cara de anjo?
Punha tanta inquietude na pergunta que eu não ousava responder e adivinhei algo de problemático e doloroso entre aquele rapaz e Lafaure.
- Em todo caso, Edmond, estou feliz mesmo por tê-lo encontrado.
Então ele se lembrava do meu primeiro nome?
- Há quanto tempo não nos vemos? Vejamos... Treze anos, creio... Treze anos, já... Pois você não mudou...
- O senhor também não, Sr. Lafaure. -Oh! Eu...
Ele soltou um suspiro e coçou a cabeça. Sob a luz dura do néon, seu rosto parecia ainda mais fino e enrugado que no camarim e a pele estava pintada com manchas de
ferrugem.
- Desde que deixei o colégio de Valvert para me aposentar que moro aqui com minha irmã mais velha... Eu gostaria de chamá-lo à nossa casa, mas minha irmã dorme cedo
e tem péssimo gênio...
- O senhor tem notícias do Valvert?
- O Valvert não existe mais. A propriedade foi vendida a uma empresa imobiliária. Destruíram todos os edifícios. É triste, não acha?
Recebi essa novidade com isenção, mas no dia seguinte, ela me provocou uma sensação de vazio, como o silêncio e a poeira por cima de paredes ruídas
- O Sr. Kovnovitzine me escreve de vez em quando. Agora mora em Sainte-Geneviève-des-Bois. Lembra-se dele?
- Claro. Um cara muito chique... Kovo...
- Sim, Kovo... E eu, sei que vocês me chamavam de "Morto"... Sorria, sem aparentar rancor algum, um largo sorriso de
esqueleto. Aquele sorriso nos dava razão de tê-lo apelidado de "Morto".
O jovem de olhos verdes trazia aspissaladières.
- Não cozinhou demais, Stéphane?
- De jeito nenhum, Sr. Lafaure.
- Stéphane, quero lhe apresentar um amigo de Paris... Ele é ator... Trabalhou esta noite no teatro municipal... Vou pedir que me aconselhe a seu respeito.
- Obrigado, Sr. Lafaure.
Ele o olhava sempre com uma insolência que me dava pena de Lafaure.
-Agora, Stéphane, nos deixe conversar...
Será que meu antigo mestre queria suscitar o ciúme e o respeito do outro com a presença, por aquelas bandas, de um "ator"?
- Penso sempre no Valvert - diz Lafaure.
- Eu também.
Estávamos ocupados em cortar nossas pissaladières, que estavam secas como flores de pedra.
- Estão um tanto cozidas demais, mas não ouso dizer a ele... tenho... tenho medo dele.
Virou a cabeça para o outro extremo da sala, onde estava o jovem.
- Direi a ele que nos conhecemos em Paris... De jeito nenhum lhe fale do Valvert...
O colégio de Valvert... Ele me parecia bem distante naquele restaurante deserto, diante de nossas pissaladières calcinadas, no fundo daquele vilarejo enfadonho de
província onde não
tínhamos, Sylvestre-Bel e eu, espaço suficiente para tirar a maquiagem... Uma propriedade abandonada que se visita em sonhos: o grande gramado e o fortim, sob a
lua. O labirinto verde. As quadras de tênis. O bosque. Os rododendros. O túmulo de Oberkampf...
- E o senhor teve notícias de algum aluno? - perguntei.
- Há seis anos recebi um cartão-postal de Jim Etchevarietta. Lembra-se dele?... Um moreno... Voltou para o seu país, a Argentina...
Aparentemente, essa notícia mergulhava Lafaure numa profunda melancolia.
- É longe daqui, a Argentina...
Etchevarietta. Éramos vizinhos na sala de aula. Durante a aula de matemática, ele levantava um pouquinho a carteira e me mostrava, uma por uma, as fotografias dos
seus cavalos de pólo.
- E você, Edmond? Esteve com algum aluno antigo?
- Estive com McFowles... Daniel Desoto...
- Era um pouco do tipo de Etchevarietta... O pai dava mil francos para gastar por semana...
- É... Era um pessoal estranho naquele colégio... Todos perturbados por sua situação familiar... Hein, Edmond...
Tínhamos desistido de comer aspissaladières, cada mordida me dava a impressão de estar mastigando um chiclete quente.
- Como o senhor soube que eu trabalhava nessa peça?
- Recebo todos os programas das turnês e li o seu nome. Meu pobre nome escrito na parte de baixo do cartaz, duas
vezes menor que o de Sylvestre-Bel.
Lafaure me apertava o braço e assim como seu riso e sua voz, aquele aperto era o de um esqueleto.
- Sempre achei que você faria carreira num ofício artístico... Já no colégio...
As exclamações dos jogadores de bilhar, ao lado, cobriam
sua voz. Eu me olhava furtivamente no espelho, atrás dele. Não, não estava com cara de palhaço, como temia. É claro, a base de tinta me dava uma aura de navegador
de recreio, as sobrancelhas um tanto negras demais e sua curva por demais bem desenhada, mas sem nada de excessivo. E, no entanto, eu me pintava à antiga, segundo
os conselhos de Sylvestre-Bel, utilizando batons Leichner em cores berrantes e, para tirar a maquiagem, manteiga de cacau.
- Sr. Lafaure, desculpe pela maquiagem, mas não quis fazêlo esperar...
Afinal também ele parecia maquiado. A pele branca como a de um pierrô.
- Vejamos, Edmond... A pintura lhe cai muito bem... Examinava-me com um olhar de admiração. Nunca mais
vou encontrar público igual àquele velho professor de química, para que já no colégio... Ai, com a idade chegando, de fato é preciso admitir-se que não irá representar
os personagens importantes, mas os comparsas, as silhuetas. Não há nada de desonroso em fazer parte dos obscuros e desqualificados do ofício. Meu colega de camarim
me dizia isso com freqüência; ele, cuja especialidade consistia em fazer, há mais de quarenta anos, pequenos papéis: lacaio ou mordomo. Passava na corrente de ar,
seco, elegante, encurvado, imperioso como o nome
- Sylvestre-Bel, e suas breves aparições eram o segredo - segundo ele - de sua eterna juventude.
- Imagine, Edmond, que ainda tenho o transistor...
Lafaure tinha se debruçado em minha direção e cochichado essa frase. Levei alguns segundos para entender e me invadiu uma lembrança de tonalidades veranis e odores
de mato.
O ano escolar estava no fim. Tínhamos feito tanta bagunça com nosso professor de química naquele ano, que sentíamos remorso. Então resolvemos nos cotizar para lhe
dar um presente e nosso colega McFowles ficou encarregado de nos
trazer dos Estados Unidos, onde ia freqüentemente com a avó, o rádio transistor mais moderno da época. No início da aula o entregamos a Lafaure. Muito emocionado,
ele nos propôs sair da sala e fazer um grande passeio pelo parque do colégio.
Andávamos em grupo em torno de Lafaure e McFowles lhe mostrava de que maneira captar as diferentes rádios francesas e estrangeiras. McFowles, aos quinze anos, media
quase um metro e noventa. Praticava todos os esportes perigosos e isso, mais tarde, lhe custaria a vida. Mas naquele dia, com gestos desengonçados, explicava a Lafaure
como usar o rádio.
Sob o sol, tínhamos atravessado o grande gramado e seguido uma aléia ladeada de moitas de rododendros. A pista Hébert. As quadras de tênis. E penetramos no bosque...
No dia seguinte começariam as férias longas. Ainda escuto fragmentos de música do transistor, nossas vozes, a de Lafaure marcando o compasso como os suspiros de
um contrabaixo, a risada forte de McFowles...
- Na verdade, Edmond, antes que me esqueça, vou pedir também o seu autógrafo...
Num gesto brusco, Lafaure me estendeu o programa vermelho e ouro da nossa peça. Franzia as sobrancelhas e eu bem via que tinha lágrimas nos olhos - coisa estranha
naquele rosto de esqueleto.
Minha fotografia estava ao lado da de Sylvestre-Bel, porém pequena, tão pequena... Mal se distinguiam meus traços. Escrevi: "Para o Sr. Lafaure, como lembrança do
Valvert e de seu antigo aluno, Edmond Claude".
Levantamo-nos da mesa e atravessamos a sala do restaurante, Lafaure me precedendo num andar de autômato, seu sobretudo cuidadosamente dobrado sobre o braço rígido.
O jovem que nos tinha servido o peixe estava apoiado no bar graciosamente desengonçado. Fixava Lafaure com o mesmo olhar que há pouco, como se estivesse certo de
seu poder sobre ele. Lafaure abaixou a cabeça.
A chuva caía muito mais forte que antes do jantar. Eu o ajudei a enfiar o sobretudo amarelo. Apagaram todas as luzes no interior do restaurante. Nós não tínhamos
guarda-chuva e ficamos lado a lado sem nada dizer, Lafaure e eu, debaixo do toldo metálico do Armes de la Ville.
Pois bem, imagine que uma noite, na véspera de Natal, eu esperava com minhas duas filhinhas na frente da entrada do cinema Le Rex, onde passavam um filme de Walt
Disney. A fila compunha-se apenas de pais com seus filhos. Alguns lugares à nossa frente, um homem muito ereto, de cabelo branco, chamou minha atenção. Estava só,
envolvido num casaco amarelo e num cachecol de um cinza poeirento. Lançava olhares furtivos às crianças à sua volta, como se procurasse por uma em particular, que
estivesse disponível e com quem ele pudesse se engajar numa conversa. Nossos olhos se encontraram. Era Lafaure.
Num relance, ele virou a cabeça, à maneira de um homem apanhado em flagrante. Vi-o deixar a fila imperceptivelmente. Será que tinha medo que um gesto por demais
brutal de sua parte de novo chamasse a atenção sobre ele e que o segurassem pela gola? Será que tinha me reconhecido? Bem que eu quis perguntar isso a ele, como
você pode imaginar, mas Thierry Lafaure já se perdia, com seu andar de fantasma, na multidão do bulevar.
III
Toda quinta-feira Gino Bordin, nosso professor de guitarra, vinha do colégio no ônibus da Porte de Saint-Cloud. Soube que naquele tempo morava em Montmartre, na
rua Audran, 8, mas isso não tem grande utilidade para mim, porque ele não figura mais no anuário.
Bordin sempre usava um terno azul-noite enfeitado com lenço de bolso e gravata de seda clara. Seus óculos tinham aros finos de prata e o cabelo, também prateado,
ele penteava para trás, como Kovo. Em torno de meio-dia, na quinta-feira, ele seguia num passo rápido a aléia do Castelo, levando na mão esquerda o estojo marrom
que envolvia a guitarra. Almoçava no refeitório, à mesa do fundo. Infelizmente, nunca consegui me sentar àquela mesa perto dele, mas durante toda a refeição o observava.
Fazia os vizinhos rirem muito. Eu conhecia de cor todas as suas anedotas. Tinha sido o primeiro a introduzir na França a guitarra havaiana e esse era o seu título
de glória.
Bordin não dispunha de local algum. Sequer o deixavam utilizar a sala de solfejo, no térreo da Ala Nova. Tinham-no relegado a um tamborete de madeira no saguão,
diante da escadaria monumental que levava ao primeiro andar do Castelo. Lá, nas correntes de ar e na meia penumbra, ele dava as suas aulas às escondidas.
Era, sem dúvida, o reduzido número de alunos de Bordin que lhe valia essa falta de consideração. Por muito tempo, teve apenas dois: Michel Karvé e eu. Mas no fim
da aula, impulsionado por mim e por Karvé, um pequeno grupo de fiéis se reunia em torno dele, na quinta-feira à tarde, para ouvi-lo tocar: Edmond Claude, Charell,
Portier, Desoto, McFowles, El Okbi, Newman... Naquelas tardes, os alunos tinham tempo livre e se espalhavam pela grama e pelas quadras de esporte. Nós preferíamos
a companhia de Bordin.
Por volta das seis horas, ele interpretava uma música lenta e pungente: HowHigh theMoon. Aquilo significava que era hora de nos despedirmos. Karvé e eu o acompanhávamos
ao ponto do ônibus: Pedro nos tinha dado autorização excepcional para ultrapassar o portão com nosso professor e ficar algum tempo lá fora. Esperávamos os três na
calçada, diante do jardim público, Bordin acariciando com a mão distraída o pescoço da guitarra, que apoiava contra a perna. Dava um abraço em cada um de nós:
- Agioved', amici miei...
Subia no ônibus e sentava-se sempre atrás, depois de ter colocado no assento ao lado a guitarra. No momento que o ônibus atravessava a passagem de nível, nos acenava
com o braço.
Os acordes da guitarra havaiana de Bordin me evocam a brisa soprando ao longo de uma avenida vazia e ensolarada que desce até o mar. Lembram-me também minha amizade
com Michel Karvé, vizinho de sala de aula. Entendíamo-nos bem, no entanto, Karvé me intrigava. Penso no dia em que distribuíram a todos nós um questionário: tínhamos
que escrever nossa data de nascimento e a profissão de nossos pais.
Karvé pareceu hesitar um instante. Passeava um olhar pensativo através do vidro. Fora, o sol de inverno banhava o pátio da Confederação com uma luz doce e brumosa.
Ele levantou a carteira e procurou alguma coisa no Larousse. Tornou a fechar
a carteira. Enfim, decidiu-se. Na rubrica "Profissão dos pais", escreveu com uma letra bela e aplicada:
"Tráfico de influências".
Consultei o Larousse, por minha vez, para achar o sentido dessas palavras e gostaria que Michel Karvé me desse maiores explicações, mas tinha medo de ser indiscreto.
Eu tinha estado com os pais dele em diversas oportunidades, nos dias de feriado em sua casa, na avenida Victor-Hugo. Tinham me parecido muito distintos. O Dr. Genia
Karvé era um homem alto e magro, a quem os olhos claros davam um ar de juventude. Sua mulher: o cabelo louro veneziano, um rosto de leoa, olhos claros como os do
marido, o aspecto jovial e esportivo de certas americanas.
À primeira vista, as palavras "tráfico de influências", que permaneciam traçadas na minha memória na caligrafia nítida e precisa de Michel Karvé, não correspondiam
àquele casal.
Pude observá-los melhor durante um passeio que fizemos no bosque de Boulogne. Era uma tarde de sábado de outono. Céu cinza, cheiro de capim e terra molhados... Eles
andavam à nossa frente lado a lado e as silhuetas elegantes do Dr. Karvé e da mulher associavam-se, para mim, a palavras tais como caçadas, criação de faisões, equipagem.
Tínhamos atravessado o parque da Bagatelle, depois desembocado, pela estrada mais abaixo, na área de pólo. A noite caía. Uma coisa tinha me surpreendido nos pais
de Michel: não lhe dirigiam a palavra e até demonstravam por ele uma total indiferença. Também reparava como a roupa do meu colega contrastava com a do doutor e
da madame Karvé. Vestia calça de veludo surrada e um blazer velho, grande demais para ele. Sem casacão. Sandálias de borracha. No colégio, eu tinha lhe dado dois
pares de sapatos, pois os dele todos estavam furados.
Mais tarde, dentro do grande carro preto do Dr. Karvé não tomava cuidado algum com o carro, a carroceria suja de lama - estávamos sentados no banco de trás, Michel
e eu. O Dr. Karvé fumava, ao volante. De vez em quando, a mulher e ele trocavam breves palavras. Falavam de gente que meu colega com certeza conhecia.
-Vamos sair hoje à noite, Michel - diz a Sra. Karvé. - Deixei para você uma fatia de presunto na geladeira.
- Sim, mamãe.
- Vai dar?
- Sim, mamãe.
Ela dissera aquilo com uma voz distraída, meio seca e sem virar para ele.
Tráfico de influências. Guardei uma folha de papel azul com cabeçalho do Dr. Genia Karvé, "otorrinolaringologista, avenida Victor-Hugo, 12, l6d., Passy 38-80", onde
este, numa caligrafia firme, me prescreve alguns remédios. Auscultou-me uma noite em que Michel lhe tinha dito que me sentia meio mal. No gabinete, mostrou a mesma
indiferença cortês com que nos tratava normalmente, ao filho e a mim. Nas prateleiras da estante notei fotografias com dedicatórias, a maioria em molduras de couro
e imperceptivelmente aproximei-me dessas fotografias para melhor contemplá-las.
- Clientes que são ao mesmo tempo amigos - diz o Dr. Karvé encolhendo os ombros, o cigarro inclinado no canto dos lábios.
Tráfico de influências. No dia seguinte ao que Michel respondera tão curiosamente ao questionário, vimos pela janela
da nossa sala o automóvel preto do Dr. Karvé atravessar o pátio da Confederação e virará esquerda rumo à aléia que levava ao Castelo. Era a primeira vez que o doutor
Karvé visitava nosso colégio. Os pais de Michel nunca vieram buscar seu filho ou acompanhá-lo nos dias de saída. Ele pegava o ônibus até a Porte de Saint-Cloud,
como eu Depois o metrô.
Meu colega não pestanejou. Chegou a fingir que não estava prestando atenção alguma no carro do pai. Alguns instantes depois, um supervisor entrou na sala, interrompendo
a aula de inglês.
- Karvé, o senhor diretor quer falar com você. Está na companhia do seu pai. Michel se levantou. De blusa azul velha e sandália, seguia o supervisor num andar teso,
como alguém que vai sendo levado ao pelourinho.
Com certeza tinham mostrado ao outro Genia Karvé o questionário preenchido por Michel. O que disseram um ao outro, o pai e o filho, no escritório do Sr. Jeanschmidt,
nosso diretor? Foi mais tarde, bem mais tarde, que fiz uma investigação. Tinha perdido Michel de vista havia tempos, e tudo ignorava a respeito de seu destino e
do de seus pais. Na avenida VictorHugo, não havia mais doutor Genia Karvé.
Tráfico de influências interroguei pessoas e consultei velhos jornais cujo cheiro me lembrava o de um sábado de outono em que Michel e eu tínhamos passeado no Bosque,
em companhia de seu pai e de sua mãe. O caminho de volta, o Dr. Karvé tinha parado o carro em Neuilly na esquina com a avenida de Madrid.
- Bom. Deixamos vocês aqUi Vamos encontrar uns amigos no bairro.
Michel tinha aberto a porta do carro em silêncio.
- Não esqueça... O presunto está na geladeira... - tinha dito a Sra. Karvé numa voz cansada.
Ficamos um instante imóveis, acompanhando com os olhos o carro que se afastava na direção do bairro Saint-James.
- Não tenho bilhetes de metrô - dissera-me Michel. - E você?
- Também não.
- Se quiser, está convidado a dividir minha fatia de presunto. Ele tinha caído na gargalhada. Aquela parte da avenida era
escura e nós dávamos de encontro a montes de folhas secas no meio da calçada. À medida que nos aproximávamos da avenida de Neuilly, enxergávamos melhor. Luzes nas
janelas e fachadas de restaurantes brilhantes. Agora, as folhas secas atapetavam a calçada com uma camada espessa e grudavam nos saltos. Seu cheiro amargo era o
mesmo dos velhos jornais cujas folhas quebradiças são viradas devagar, uma por uma, em sentido inverso ao tempo, para se tentar encontrar uma fotografia, um nome,
o traço perdido de alguém.
Uma matéria pequena de uma coluna só na parte inferior da página. Os Karvé tinham estado no correcional. Talvez Michel soubesse. O processo tinha se desenrolado
dois anos depois de seu nascimento. Tinham descoberto, na casa dos Karvé, móveis, quadros e jóias de origem suspeita. O "casal" tinha sido condenado a uma pena de
prisão com sursis e vinte mil francos de multa por "receptação". O relato especificava que a Sra. Karvé usava, na ocasião, um vestido turquesa muito justo e cinto
de pele branco, mas nem uma vez, tenho que reconhecer, empregava-se em relação ao doutor e à sua mulher a expressão "tráfico de influências".
Eram aquelas mesmas pessoas que eu tinha conhecido e cujas silhuetas graciosas deslizavam na minha lembrança?
Acabei dando num bar da avenida Montaigne, outrora freqüentado por gente da noite e apostadores de cavalos. Um dos antigos freqüentadores possivelmente saberia me
dizer: durante cinqüenta anos freqüentava "todas" as rodas.
Pronunciei o nome da Sra. Karvé e um enternecimento repentino atravessou seu olhar, como se aquele nome lhe lembrasse sua juventude ou a mãe do meu ex-colega:
- O senhor está falando de Andrée, a Puta? - perguntou-me em voz baixa.
Michel e eu estávamos sentados um à frente do outro no café da avenida Victor-Hugo, diante do prédio onde moravam seus pais. Desde o início das férias de Páscoa,
não tinha ido à casa dele. Um de nossos colegas de turma, Charell, lhe tinha oferecido refúgio.
Usava como sempre o velho casaco grande demais, a calça de veludo remendada e uma camisa à qual faltavam vários botões.
- Pode ir agora - me diz.
- Tem certeza de que não mudou de idéia? -Não.
- Vai. Espero você.
Levantei-me, saí do café. Atravessei a rua e, no momento de passar pelo pórtico do 12, senti o coração bater. Tinha esquecido o andar e consultava a lista pregada
à porta de mogno da portaria.
Dr. Genia Karvé. Segundo, direita.
Decidi não pegar o elevador e subia a escada parando demoradamente em cada andar. No dos Karvé, fiquei alguns
momentos imóvel, apoiado contra o corrimão como um boxeador contra as cordas do ringue, logo antes do início da luta. Por
fim, toquei.
A Sra. Karvé abriu. Vestia um costume pied-de-poulee uma blusa preta que valorizava sua cabeleira loura. Ela não parecia surpresa por me ver.
- Vim buscar as coisas de Michel - disse a ela. -Ah, sim... entre...
Ele, com certeza, tinha telefonado para anunciar minha visita. Ou ela era indiferente ao destino do filho? Atravessamos o vestíbulo. Uma sacola de golfe estava jogada
no chão.
Ela empurrou uma porta, no início do corredor.
- Eis aqui... Estão aqui... As coisas dele devem estar no armário... Vou deixá-lo um instante.
Lançou-me um sorriso charmoso e desapareceu. Eu ouvia a voz do Dr. Karvé, bastante próxima. Ele falava demoradamente, mas ninguém respondia. Sem dúvida estava falando
ao telefone.
O quarto de Michel era tão pequeno que se podia questionar se originalmente tinha servido de quarto de despejo. Uma janela grande, desproporcional para aquele cubículo.
Colei a testa no vidro que apenas filtrava um dia crepuscular. E no entanto, fora, eram duas horas da tarde e havia sol. Aquela janela dava para um pátio estreito
como um poço.
Por que, naquele apartamento imenso que Michel me tinha feito visitar na ausência dos pais, terem lhe dado aquele quarto minúsculo? Michel fingia que tinha sido
ele mesmo quem o tinha escolhido.
Não havia lençol na cama de armar, mas uma simples manta xadrez. Michel me tinha pedido que a levasse para ele. Abri o armário e na sacola esportiva azul-marinho
do colégio arrumei as roupas dele. Alguns pares de sapatos velhos, um calção de banho, um lenço, dois pulôveres, três camisas. As camisas estavam remendadas, como
a calça de veludo e tinham a particularidade
de levar no avesso do colarinho a etiqueta de um grande costureiro. Na verdade, eram antigas blusas da mãe. Os pais de Michel o vestiam com suas roupas velhas
e o blazer, grande demais para ele, e surrado, tinha pertencido ao pai, também advindo de um famoso alfaiate da rua Marbeuf.
Eu continuava ouvindo a voz monocórdia do Dr. Karvé ao telefone. Por instantes, ele caía na gargalhada. A porta entreaberta abriu-se e a Sra. Karvé apareceu no umbral.
- Então, está conseguindo?
Ela me envolvia com seu sorriso. A lâmpada, no teto, iluminava seu rosto com uma luz crua, fazendo aflorar na pele manchas de rubor. Agora entendo melhor o que me
comovia naquela mulher: uma mistura de frivolidade e de langor que se associa no meu espírito ao século XVIII francês, aos cetins, aos cristais e àquela mistura
que chamam de "loura fatal".
- Encontrou a roupa toda do Michel?
- Encontrei.
Ela contemplava a sacola.
- Devia ter lhe dado uma mala... Você acha que Michel não quer voltar para casa nunca mais?
- Não sei.
- De todo modo, diga a ele que será sempre bem-vindo aqui.
Peguei a sacola e a pus no ombro.
- Tome... É para Michel... Um dinheirinho... Estendia-me uma nota de cem francos amarrotada.
- Ele sempre foi assim - disse-me a Sra. Karvé com uma voz distante, como se estivesse convencida de que ninguém a escutaria e de que falaria mais para si mesma.
- Quando era pequeno, eu o levava ao Pré-Catelan e ele sempre se escondia... Às vezes, eu levava uma hora para encontrá-lo... Coitadinho do Michel...
Ela me precedia no vestíbulo. O Dr. Karvé falava ao telefone, soltando exclamações numa língua estrangeira.
Eu já estava na escada. Ela hesitava em fechar a porta.
-Até logo...
Estendeu-me o braço.
Eu devia ter beijado sua mão, mas a apertei.
-Até logo... Genia está ocupado no escritório, mas diga a Michel que seu pai lhe manda um grande beijo... E eu também...
Eu descia a escada impaciente para estar de novo ao ar livre, sob o sol.
Michel me esperava no terraço do café, de braços cruzados. Dei-lhe a manta escocesa e a sacola cujo conteúdo rapidamente verificou.
-Você esqueceu "Volta aos dias felizes" - disse-me. Tratava-se de uma ilustração cortada de uma velha revista que ele e eu tínhamos encontrado no fundo do quarto de
despejo do Pavilhão Verde. A revista datava do mês e do ano do nascimento dos dois: julho de mil novecentos e quarenta e cinco e o desenho era um anúncio do porto
Antonat. Uma mulher loura, de perfil, com um lenço na cabeça e sentada num barco. No horizonte, um lago, montanhas, uma vela branca. E em cima, em letras grandes
e finas:
VOLTA AOS DIAS FELIZES
A nostalgia e a doçura ensolarada dessas palavras e do desenho nos intrigava, a Michel e a mim. Bordin, a quem pedimos opinião, arrancou da guitarra uns acordes
langorosos. Michel, por sua vez, queria escrever um romance inteiro, inspirado na mulher de lenço no lago, nas montanhas. Chamar-se-ia.
Volta aos dias felizes.
- Eu o tinha posto na mesa-de-cabeceira - disse-me ele, decepcionado. - Mas não faz mal...
- Quer que eu volte para buscá-lo?
- Não, não... Não vale a pena. Tenho-o bem gravado na cabeça... O principal é um dia eu escrever o romance...
Ele colocou a nota de cem francos na mesa.
- Sua mãe disse que se você quisesse voltar...
Parecia não me ouvir. Fora, na calçada oposta, o Dr. Karvé andava em meio às marcas de sol arrastando a sacola de golfe. A Sra. Karvé saía, por sua vez, do prédio.
Usava óculos escuros que contrastavam com a tintura loura. O doutor abria a porta do carro e lançava com um gesto exausto a sacola de golfe no banco. Sentava-se
ao volante. A Sra. Karvé, sempre casual, deslizava ao seu lado. O carro saía lentamente.
- Vão a Montefontaine - diz Michel.
E em sua voz não havia reprovação alguma mas, ao contrário, uma espécie de desgosto.
Durante nossa viagem de metrô tentei uma última vez dissuadi-lo. Tinha falsificado com corretivo sua certidão de nascimento para envelhecer três anos. Mas sim, sua
decisão já estava tomada. Em seguida, fomos no trem até Athis-Mons, onde ficava o escritório de recrutamento.
IV
De todos os nossos professores foi, sem dúvida, a Kovo que demos a maior satisfação. O esporte era uma disciplina que nosso diretor, o Sr. Jeanschmidt, privilegiava
e nós lhe dedicávamos três tardes por semana.
Muitas vezes Pedro assistia às aulas de Kovnovitzine. Ele e Kovo tinham grande amizade um pelo outro. Tinham os mesmos gostos. Contava-se que na fundação do colégio,
pelos dois irmãos mais velhos de Pedro, este tinha ficado com o emprego de professor de ginástica.
O hóquei na grama era o esporte tradicional do colégio. O próprio Pedro montava as equipes e cuidava do treinamento. Mas dispúnhamos também de uma piscina escavada
na orla do grande gramado. E se avançássemos mais pelo parque, descobríamos a pista de corrida, a área de salto com vara, a quadra de vôlei, as duas quadras de tênis,
e, por fim, o que Kovo e o Sr. Jeanschmidt chamavam "pista Hébert", em homenagem a um certo Hébert, criador de um método de educação física de quem os dois eram
discípulos.
Jeanschmidt e Kovo tinham planejado essa "pista Hébert" uns dez anos antes. Uma espécie de prova das que se faz no exército, semeada de diversos obstáculos: muros
a escalar, corda
em que trepávamos, as pernas formando um esquadro, barreiras e arcos que era preciso vencer rastejando nos cotovelos, cavaletes para saltos e exercícios... Bem
cedo pela manhã, na primavera, fazíamos o que Kovo chamava de "um percurso Hébert" antes de irmos em marcha para a cerimônia de içar a bandeira.
Essas atividades cotidianas ao ar livre davam seus frutos. Nossa equipe de hóquei tinha alcançado nível nacional no júnior e nossos saltadores com vara podiam desafiar
os da equipe da França. Kovo obtinha de Jeanschmidt horas suplementares de esporte em detrimento de outros cursos. E me digo que Pedro tinha razão de lhe conceder
esse privilégio. Para a maior parte de nós o esporte era um refúgio, uma maneira de esquecer por um momento as nossas dificuldades de viver, em particular para nosso
colega Robert McFowles.
Esse McFowles, Kovo o admirava. Aos quinze anos, era capitão da equipe de hóquei e praticava com a mesma alegria esqui, natação e tênis. Bob e eu moramos um ano
no mesmo quarto, no Pavilhão Verde, e fizemos uma grande amizade.
Ele acabou se matando, em torno dos trinta anos, durante um campeonato de bobsleigh na Suíça, mas tive oportunidade de revê-lo. Cheguei a presenciar, por acaso,
a sua lua-de-mel. Acabava de se casar em Versailles com uma menina da cidade e, não sabendo onde ir em viagem de núpcias, tinham escolhido um hotel próximo dos Trianons
para passar o mês de agosto.
Fazia muito calor naquele verão e McFowles e a mulher tomavam banhos de sol no gramado do parque do hotel. O maiô de Anne-Marie - a muito recente Sra. McFowles -
era de um vermelho vivo e o calção de McFowles imitava leopardo, o que me lembrava o Valvert. Adorávamos aqueles calções de Tarzan e a maior parte de nós os usava
na borda da piscina do colégio, estranha piscina de águas pretas estagnadas que coloríamos com azul-de-metileno para lhe dar aspecto mediterrâneo. E consertávamos
como podíamos o trampolim quebrado.
Bob McFowles tinha conhecido a futura mulher alguns eses antes, numa estação de esportes de inverno. Ela trabalhava na recepção de um hotel. Um raio. O casamento
foi celebrado em Versailles, onde o pai de Anne-Marie tinha um comércio, na rua Carnot.
Uma menina de estatura mediana, cabelos louros e grandes olhos azuis. Sua graça fria me lembrava certos retratos do século XVIII, como o de Louise de Polastron.
Francesa, AnneMarie o era até a ponta das unhas, o que formava um harmonioso contraste com a aparência um tanto rude de Bob McFowles, sua grande altura, seu andar
ao mesmo tempo pesado e desengonçado.
Como família, Bob só tinha uma avó americana, uma senhora Strauss, criadora dos produtos de beleza Harriet Strauss. Na época do Valvert, ele ia nas férias de Natal
e Páscoa para a Cote d'Azur com ela e nas férias grandes, ela o levava para a América. O resto do ano, Bob não deixava o colégio, mesmo nos dias de saída. Toda semana
recebia uma carta da avó num envelope bege-escuro, no qual seu nome vinha escrito à máquina, em vermelho.
Naquela época, eram expostos nas vitrines das perfumarias os produtos de beleza Harriet Strauss e eu os admirava pensando no meu colega de turma. Esses produtos
hoje desapareceram, mas no verão da lua-de-mel de McFowles, os batons e bases Harriet Strauss ainda ladeavam nas prateleiras os rivais de Max Factor e Elisabeth
Arden. Eles garantiam rendas confortáveis a Bob, ao qual, no dia em que fez vinte e um anos, a avó cedeu todas as cotas de Harriet Strauss.
Estávamos, então, deitados sobre o gramado, em traje de banho, Bob, Anne-Marie e eu, e McFowles bebia sua laranjada com a ajuda de um canudo.
- É pena - diz ele. - A única coisa que está faltando aqui é o mar...
Com efeito, a fachada branca do hotel, as mesas com pára-sóis
vermelhos, as portas das sacadas ao longo da galeria e suas cortinas de tecido laranja tomavam uma aparência de balneário sob o sol.
- Não acha, meu velho, que é só o mar que está faltando?
No momento eu não estava prestando muita atenção nesse comentário de McFowles nem no seu ar sonhador, mas foi a partir daquela tarde que o "mal-estar" - não encontro
outro termo - começou a pesar entre nós.
E no entanto McFowles estava num humor encantador na ocasião de um almoço no terraço do hotel. Tinha convidado o senhor Lebon, seu sogro, um homem de cabelo branco
e bigode, também ele muito francês, e cujo rosto delicado poderia ter sido pintado por Clouet. McFowles o intimidava e Lebon falava com o genro separando bem as
sílabas, como se falasse com um estrangeiro. Mas a extrema gentileza de Bob pouco a pouco o deixou à vontade. Meu colega fez perguntas sobre seu trabalho e ouvi-o
com interesse. Eu ali revia o Robert McFowles do Valvert, lunático, mas capaz de se interessar pelos outros e de ganhar seu coração graças ao olhar afetuoso e às
atenções. Anne-Marie parecia contente com o encontro entre o pai e Bob.
Serviam-nos o café. McFowles, num gesto largo, varreu com o braço o terraço onde estávamos os três, e o gramado do parque.
- Acho que está faltando uma coisa aqui - disse ao pai de Anne-Marie. - Adivinhe o quê, papai...
Lebon sorriu intimidado.
-Não... não sei...
Anne-Marie se lembrava, sem dúvida, da declaração de Bob na véspera. Ela caiu na gargalhada. Aquela gargalhada, quando penso no rumo que tomaram os acontecimentos,
me gela o coração.
- Sim... Falta alguma coisa aqui - disse McFowles numa voz grave.
- Adivinhe, papai - insistiu Anne-Marie. Lebon franzia as sobrancelhas.
Não sei... não sei mesmo.
- Falta o mar - disse McFowles, num tom grave que surpreendeu a nós três.
- De fato - disse Lebon. - Faz um tempo para se estar à beira do mar...
- Mas, infelizmente, não há mar em Versailles - disse McFowles.
Ele parecia sentir um esgotamento súbito. Lebon me lançou um olhar interrogativo.
- Bob gosta muito do mar - tentei consertar. Anne Marie parecia incomodada.
- De todo modo, estamos pensando em ir para o litoral no fim do mês - disse ela.
Mas Bob tinha levantado a cabeça e seu rosto iluminava-se com um sorriso infantil.
- Não se pode pedir o impossível, hein, papai...
Alguns dias depois, um velho automóvel conversível americano, de cor verde, parou no fim do gramado, fazendo o cascalho chiar. Era o carro de McFowles que dois amigos
traziam para ele de Paris. Ele me apresentou os dois: James Mourenz, um rapaz da nossa idade, de cabelos louros penteados à escovinha e nacionalidade suíça, colega
de equipe de McFowles nos campeonatos de bobsleigh que este disputava todo inverno, e Edouard Agam, um moreno baixo, de uns cinqüenta anos. Nunca soube se era libanês,
egípcio ou simplesmente sírio do Egito, o que explicaria seu francês impecável e o primeiro nome cristão. Agam tinha criado uma orquestra na Cote d'Azur. McFowles
o tinha conhecido em Genebra quando sua carreira estava em declínio.
Aqueles dois homens eram os parasitas de Bob, mas AnneMarie, em sua candura, não tinha a menor suspeita disso. Estavam sempre ao lado do meu colega, como dois guarda-costas
ou dois bufões. A risada de James Mourenz, suas cicatrizes, seu
modo de lhe bater às costas, de se pôr em guarda e girar em torno de você saltitando nas pernas, como um boxeador, me divertiam, no início. E eu ficava sensibilizado
com a cortesia de Edouard Agam. Bob me tinha confiado que eles eram seus dois amigos - seus pais, segundo a expressão americana.
E as coisas poderiam ter seguido um outro curso, os dias sucederem-se aos dias na indolência, se não estivesse em pauta o mar. McFowles falava dele sem cessar. -
Você não viu o mar?
- Tenho certeza de que está na hora da maré. - De que cor está o mar hoje? - Não está sentindo um cheiro de mar? Mourenz e Agam, para agradar a Bob, logo o excederam.
Agam cantava para nós, acompanhando-se no violão. O mar, de Charles Trenet. Mourenz tinha decidido que o mar começava ali em baixo da varanda do hotel e queria que
admirássemos seus mergulhos. Também usava calção de banho imitando leopardo e, de pé sobre a balaustrada, enchia o peito de ar numa grande inspiração. Então apontava
a cabeça para o gramado e no último momento se aprumava num movimento de quadril.
- Meio fria? - perguntava McFowles.
- Não, esta manhã está boa - respondia Mourenz, agitando-se e alisando o cabelo como se acabasse de mergulhar. Este mar tem a temperatura ideal.
Um observador superficial teria tomado aquilo por uma simples brincadeira, mas inquietar-se-ia no dia em que Mourenz, achando que a balaustrada do terraço era um
trampolim baixo demais, decidiu se lançar do alto do pórtico da entrada do hotel. Essa iniciativa provocou o entusiasmo de McFowles e Edouard Agam, e nada ousamos
dizer, Anne-Marie e eu.
- Pode ir sem medo - disse McFowles. - O mar é fundo nesse local...
Mourenz subiu com o auxílio de um banquinho naquele terraço de mais de três metros. Agam, impassível, cantarolava O mar. O porteiro e um dos contínuos do hotel acompanhavam
a cena, entretidos.
- Vou mostrar para vocês o salto do anjo - disse Mourenz. Fez um sorriso-careta de desafio. McFowles tinha me dito
que sua audácia, na ocasião dos campeonatos de bobsleigh em Saint-Moritz, lhe tinha valido a alcunha de "James Suicida".
- Vai - disse McFowles. - Não tem mais onda. Uma verdadeira piscina. Mostre-nos o seu salto de anjo.
Mourenz, ereto sobre a balaustrada do pórtico, os lábios comprimidos, tomou ar. Num impulso brutal, se projetou na altura, os braços abertos. Poder-se-ia jurar que
ia se esborrachar no chão, mas dobrou os joelhos contra o ventre, numa fração de segundo, e caiu sobre o gramado macio na posição de ovo que tão bem ilustrou, no
início dos anos 60, o esquiador Vuarnet. Nós aplaudimos. Só McFowles permaneceu impassível.
- Da próxima vez, você vai mergulhar de mais alto e quando tiver onda - disse a ele, secamente.
Daí para diante, toda manhã, o "James Suicida" mergulhava. Salto carpado, de uma mesa que tinha colocado na varanda do hotel, "pontapés na lua" ou "mergulhos revirados".
E, toda vez, as demonstrações terminavam em brincadeiras rituais: "a água está boa"; "o senhor devia mergulhar também"... até o dia em que, ao mergulhar, fraturou
ligeiramente o antebraço. Andava com o braço num lenço - um lenço de seda branco que McFowles tinha lhe dado - e passava o dia todo vestido apenas de lenço e calção
de leopardo.
- Não vai mais poder tomar banho de mar, meu pobre velho - disse McFowles. - Que pena, com este calor...
Mas Mourenz, apesar do braço na tipóia, não tinha perdido a disposição. Queria mandar vir de Paris um motor de popa e esquis que usariam no grande canal de Versailles.
McFowles tinha comprado uma barraca de praia laranja e conseguido do diretor do hotel permissão para montá-la no parque. Nós cinco ficávamos em torno da barraca.
- Sente-se o cheiro do mar - dizia Mourenz.
- Vocês não querem aproveitar a maré baixa para passear?
- perguntava McFowles. Ele se inclinava para Anne-Marie.
- Vou achar lindas conchas para você, querida...
Ela o envolvia com um olhar inquieto. Aquelas brincadeiras a estavam assustando, e eu via em seu olhar. Sem dúvida, gostaria de ficar um pouco a sós com Bob na lua-de-mel.
Uma espécie de amargura, de tédio, tomava McFowles. As piadas bem-comportadas foram substituídas por comentários raivosos, do gênero:
- Você acha que vamos ficar esperando por esse puto de mar?
Virava-se para Mourenz:
- Então, não mergulha mais? Está com medo?
Eu propunha a Bob uma visita ao nosso antigo colégio de Valvert, bem perto de Versailles.
- Aceito, mas na condição de ter mar lá.
Uma noite, eu tinha conseguido levá-los para passear ao longo do grande canal e chegamos à extremidade dele, onde se estendem os prados. Ali pastam as vacas. O horizonte
é aberto e dir-se-ia que aquelas pradarias acabam no mar. Não resisti e fiz esse comentário a Bob.
-Você tem razão - declarou ele - mas é miragem. Quanto mais você avança, mais o mar recua.
Agam, atrás de nós, tocava acordeom. Mourenz só tinha gesso em torno do punho. Anne-Marie estava preocupada.
Naquela noite, por volta das três horas da manhã, o telefone me acordou. Anne-Marie. Ela disse que Bob tinha ficado prostrado no saguão do hotel e que não queria
se deitar. Pela alteração da voz, senti que ela estava chorando.
Descemos os dois para vê-lo. Estava sentado num dos sofás da grande galeria. Sentamo-nos ao lado dele.
- Vocês têm que me desculpar... Continuo esperando esse puto de mar. Não tem graça, sabem...
Ele caiu na gargalhada, mas havia algo de duvidoso naquele
44
riso. Anne-Marie me lançou um olhar desesperado. Não, ele não estava bêbado, como ela acreditava. Não precisava beber para ficar naquele estado.
Eu imaginava que com todo o seu amor por McFowles e com toda a sua gentileza, ela procurava uma explicação. Que dizer a ela? Que Bob não era um homem mau - longe
disso mas um rapaz sensível e cândido como ela e que aspirava o equilíbrio, senão não teria escolhido uma moça como ela. Infelizmente, nós, os veteranos de Valvert,
éramos sacudidos por golpes inexplicáveis de aborrecimentos, acessos de tristeza que cada um tentava combater à sua maneira. Tínhamos todos, segundo a opinião de
nosso professor de química, o Sr. Lafaure, um "parafuso a menos".
O dia chegou. Eu olhava, na parede da grande galeria, as manchas de sol que a sombra das folhas acariciava lentamente. Uma mosca tinha pousado na calça branca de
Anne-Marie, um pouco acima do joelho.
45
Um sábado sim, outro não, às nove horas da noite, nos reuníamos no pátio da Confederação para depois entrar na pequena sala de cinema, onde podíamos escolher nossos
lugares na platéia e no balcão, nos assentos de madeira escura que se dobravam automaticamente.
Pedro procurava dois novos operadores de projetor para substituir, a curto prazo, a antiga equipe composta por Yotlande e Bourdon, alunos da primeira série. Meu
colega Daniel Desoto e eu nos apresentamos como voluntários e no decorrer de algumas tardes os dois mais velhos nos ensinaram como usar o aparelho de projeção. Yotlande
foi mandado embora do colégio e Bourdon, por sua vez, tinha nos deixado, e assim Desoto e eu estávamos definitivamente instalados nas nossas novas funções.
Os alunos sentavam-se na salinha de parede ocre, que tinha aspecto de cinema de bairro. A tela, presa num painel móvel, escondia o palco, no qual, uma vez por trimestre,
um grupo teatral fazia um espetáculo e, no fim do ano escolar, Pedro anunciava a distribuição dos prêmios.
Ao cabo de um instante, o Sr. Jeanschmidt entrava, seguido por Kovnovitzine e seu labrador na coleira. Dois lugares estavam sempre reservados para eles, na quinta
fila da platéia,
46
do lado do corredor. Um silêncio acolhia a chegada de Pedro e de Kovo, rompido às vezes por discretos aplausos. O cachorro de Kovo deitava-se no meio do corredor,
muito atento, em posição de esfinge, a cabeça ligeiramente levantada em direção à tela.
Desoto e eu esperávamos, na cabine de projeção, o sinal de Pedro. Ele levantava o braço esquerdo e o abaixava bruscamente, como se para espantar uma mosca. A sessão
podia começar.
Um documentário ou desenho animado, na primeira parte. Eu reacendia as luzes. Estalidos dos assentos. Os alunos saíam um instante para o pátio da Confederação, mas
Pedro, Kovo e o cão ficavam sentados em seus lugares. Alguns colegas vinham ter conosco na cabine de projeção. Eu acionava uma campainha para anunciar o fim do intervalo.
E, de novo, o gesto imperativo de Pedro.
Vimos assim O homem de terno branco, Passaporte para Pimlico e outros filmes cujo título esqueci, mas o que voltava com mais freqüência ao programa - uma vez por
trimestre era A encruzilhada dos Archers.
Uma mansão, uma condessa loura, sua filhinha, a casa do guarda-florestal, um pintor apaixonado pela condessa, uma harmônica que se ouve à noite, um lobo uivando
para a lua...
O labrador de Kovnovitzine, orelhas em pé, respondia num latido queixoso.
A menina que fazia o papel de filha da condessa se chamava "Meu Tesouro" ou pelo menos era o nome que figurava nos créditos. A primeira vez que A encruzilhada dos
Archers passou no nosso cinema no colégio Valvert, Pedro e Kovnovitzine estavam acompanhados por um homem de uns quarenta anos, em quem Pedro, de vez em quando,
dava tapas afetuosos nas costas. Terminado o espetáculo, nosso diretor quis que todo mundo permanecesse no seu lugar. Ele se levantou e apontou o homem que estava
a seu lado:
- Apresento a vocês um ex-aluno do colégio. Esta noite
47
ele veio aqui especialmente porque conheceu uma das atrizes do filme.
Daí em diante, toda vez que passavam A encruzilhada dos Archers no Valvert, o homem comparecia à sessão. Nesses sábados, seu automóvel ficava estacionado diante
do Castelo e ele jantava no refeitório à mesa de Pedro.
Tinha estatura mediana, cabelo castanho-claro e olhar vivo. Trabalhava com importações e exportações. Tive a oportunidade, naquele ano, de me sentar também à mesa
de Pedro. Os dois falavam do passado e dos "antigos".
- Você acha que o Valvert mudou? - perguntava Pedro.
- Não, o Valvert é sempre o Valvert.
Alguns alunos tinham desaparecido na guerra, entre eles um certo Johnny, de quem Pedro se recordava emocionado.
-Volte mês que vem. Vamos passar de novo A encruzilhada dos Archers.
Acho que Pedro passava o filme com tanta freqüência para agradar a seu "antigo". O homem tinha lhe dito:
- É muito gentil da sua parte, Sr. Jeanschmidt, me permitir ver mais uma vez "Meu Tesouro"...
Ao final da refeição, o ex-aluno nos oferecia cigarros. Era proibido, mas nosso diretor, momentaneamente, fechava os olhos. E uma noite em que lhe fazíamos perguntas
sobre essa "Meu Tesouro", dispôs-se a satisfazer nossa legítima curiosidade e a de Pedro.
Sim, posso dizer que minha vida, até o presente, não passou de uma longa e vã tentativa de conquistar "Meu Tesouro". Eu a conheci quando saí da escola de Valvert
e fazia um curso de arte dramática. De todos os alunos desse Curso Marivaux, nenhum fez carreira no teatro, exceto o gordo que chamamos de "Bouboule".
48
É sempre com um fundo de inverno e noite que me lembro do Curso Marivaux. Eu tinha dezoito anos e assistia três vezes por semana às "sessões coletivas", segundo
a expressão da nossa professora, uma antiga associada da Comédie-Française que tinha criado, num andar térreo próximo da Étoile, o Curso Marivaux, "antecâmara" do
teatro e do cinema, do music-hall e do cabaré", como anunciava o prospecto.
Sobre esse fundo de inverno e de noite, revejo nossas "sessões coletivas", das vinte horas às vinte e duas e trinta. À saída do curso, conversávamos um pouco antes
de nos dispersar, Bouboule, eu e os outros, no black-out. Uma noite encontrei na esquina Johnny, um colega da turma do Valvert. Estava procurando trabalho nos estúdios
de cinema. Eu lhe propus fazer o curso conosco, mas não deu mais notícia. Não consigo lembrar os nomes e rostos de todos. Só ficaram na minha memória Bouboule e
Sônia O'Dauyé.
Ela era estrela do Curso Marivaux. Participou apenas duas ou três vezes das "sessões coletivas" pois tinha aulas particulares com nossa professora, luxo que nenhum
de nós podia se permitir. Uma loura de rosto fino e olhos muito claros. Ela logo nos deixou intrigados. Não obstante seus vinte e três anos, tinha com certeza dez
ou quinze anos a mais que nós. Dizia pertencer a uma família da aristocracia polonesa e para nossa grande surpresa, quando já não aparecia no Curso há um mês, falava-se
dela numa revista daquele tempo. Dentro em breve iria - diziam - "estrear no teatro".
Nossa professora respondia de maneira evasiva às perguntas que fazíamos sobre a promissora "estréia" da "condessa" como a tínhamos apelidado. Mas Bouboule, mais
desembaraçado que nós e que já freqüentava o mundo dos bastidores do teatro, dos estúdios e das boates, nos explicou que a "condessa" morava no largo Albert I, num
suntuoso apartamento. Bouboule ali farejava algo de suspeito: com certeza, alguém sustentava a "condessa". Ela gastava em profusão com costureiros e
49
joalheiros. Segundo Bouboule, reservava mesa para dez pessoas no Tour d'Argent, convidava quase que qualquer pessoa, oferecia presentes e tinha gente que não resistia.
Ele, Bouboule, bem que gostaria de entrar para a turma da "condessa".
Hoje tudo não passaria de uma coroa de flores murchas na lixeira, não fosse "Meu Tesouro".
Eu a conheci no dia do concurso anual. Nossa professora tinha arrumado um cenário de teatro no cômodo mais espaçoso de seu apartamento e em meio a uns cinqüenta
espectadores havia um júri, composto de algumas personalidades do mundo das artes e do espetáculo.
Eu era aluno por demais recente para participar da cerimônia e por timidez só apareci na rua Beaujon depois do concurso. Na "sala do teatro", Bouboule e alguns colegas
mantinham uma animada discussão.
- Foi a "condessa" que ganhou o primeiro prêmio de tragédia
- disse-me Bouboule. - A mim deram a revelação do music-hall.
Eu o felicitei.
- Ela tinha escolhido a cena de morte da Dama das camélias, mas não sabia o texto.
Ele se inclinou na minha direção.
-Já estava tudo combinado desde o início... Arranjos, velho... A "condessa" deve ter distribuído umas comissões ao júri e à Madame Não-Se-Manca.
Madame Não-Se-Manca era a nossa professora. No passado tinha brilhado nesse papel.
- Imagine que vieram fotógrafos especialmente para a "condessa". Ela se fez entrevistar... Uma estrela, ora... Deve ter dado muito dinheiro a eles todos...
Foi aí que reparei, bem no fundo da sala, num dos assentos de veludo vermelho, uma menina adormecida.
- Quem é? - perguntei a Bouboule.
- A filha da "condessa"... Parece que não cuida dela direito...
50
Pediu que eu ficasse com ela essa tarde... Só que para mim não vai dar... Tenho que dar uma audição... Você não quer ficar com ela?
- Se você quiser.
- Você passeia um pouco com ela e a leva de volta para casa da "condessa", no largo Albert I, 24.
- Está bem.
- Vou indo. Já pensou? Talvez me contratem para um cabaré. Estava muito agitado e suava em bicas.
- Boa sorte, Bouboule.
Só ficamos naquela sala de teatro aquela menininha adormecida e eu. Aproximei-me dela: seu rosto estava apoiado no espaldar da poltrona, a mão esquerda sobre o ombro
e o braço dobrado de encontro ao peito. O cabelo era louro e cacheado, usava um casaco azul-claro e grandes sapatos marrons. Tinha seis ou sete anos.
Bati de leve no seu ombro. Ela abriu os olhos.
Olhos claros, quase cinza, como os da "condessa".
- Temos que ir passear.
Ela se levantou. Peguei sua mão e saímos os dois do Curso Marivaux.
Pela avenida Hoche chegamos diante das grades do parque Monceau.
- Quer passear aí?
- Quero.
Ela abanava a cabeça, dócil.
À esquerda, do lado do bulevar, percebi uns balanços com a pintura descascada, um velho escorrega e um tanque de areia de cimento.
- Quer brincar?
- Quero.
51
Ninguém. Criança nenhuma. O céu estava baixo e de uma brancura de algodão, como se fosse nevar. Duas ou três vezes ela desceu pelo escorrega e me pediu, com uma
voz tímida que a ajudasse a subir no balanço. Não pesava muito. Eu empurrava o balanço em que ela se mantinha sentada, muito ereta. De vez em quando ela me olhava.
- Como é seu nome?
- Martine, mas a mamãe me chama de "Tesouro".
Havia uma pá jogada no tanque de areia e ela começou a fazer bolos. Sentado no banco ali perto constatei que as meias dela eram de tamanhos e cores diferentes: uma,
verde-escura, até o joelho; a outra, azul, ultrapassando alguns centímetros os sapatões marrons de laço desfeito. A "condessa" a tinha vestido naquele dia?
Fiquei com medo que ela pegasse frio na areia e, depois de amarrar seu sapato, levei-a para o outro lado do parque. Umas crianças giravam nos cavalos do carrossel.
Ela escolheu sentar num cisne de madeira e o carrossel moveu-se, chiando. Toda vez que passava diante de mim, levantava o braço para me saudar, um sorriso nos lábios,
a mão esquerda apertando o pescoço do cisne.
Ao final de cinco voltas, eu disse a ela que a mãe a esperava e devíamos tomar o metrô.
- Eu queria voltar para casa a pé.
- Tudo bem.
Não ousava recusar. Ainda não tinha idade para ser pai dela.
Dirigimo-nos rumo ao Sena pela rua de Monceau e a avenida George V. Era a hora em que as fachadas dos edifícios ainda se destacam sobre o céu um pouco mais claro,
mas logo tudo se confundia no escuro. Era preciso nos apressarmos. Como toda noite, naquele instante, eu me via invadido por uma angústia difusa. Ela também: eu
sentia a pressão de sua mão na minha.
52
Na escada para o apartamento ouvi murmúrios, conversa e riso. Uma mulher morena de uns cinqüenta anos, cabelo curto e rosto quadrado e enérgico de bull-terrier
nos abriu a porta. Lançou-me um olhar desconfiado.
- Boa tarde, Madeleine-Louis - disse a pequena.
- Boa tarde, Tesouro.
- Estou trazendo... Tesouro - disse.
- Entre.
No vestíbulo, buquês de flores estavam dispostos pelo chão e eu distinguia no fundo, pela porta dupla entreaberta do salão, grupos de pessoas.
- Um instante... Vou chamar a Sônia - disse a mulher com
cara de bull-terrier.
Esperamos os dois, a pequena e eu, entre os buquês de flores que enchiam o vestíbulo. -Tem flor... -disse.
- É para mamãe.
A "condessa" apareceu, loura e radiante, num costume de veludo preto com os ombros incrustados de azeviche.
- Que gentileza trazer Tesouro!
- Ora... Uma coisa mínima... Felicito-a... pelo primeiro prêmio.
- Obrigada... Obrigada...
Eu estava pouco à vontade. Tinha vontade de sair correndo daquele apartamento.
Ela se voltava para a filha:
- Tesouro, hoje é um dia importante para sua mãe, sabe... A pequena fixava sobre ela os olhos desmesuradamente
aumentados. De espanto ou de medo?
- Tesouro, mamãe recebeu hoje uma bela recompensa... Você tem que dar um beijo na sua mamãe...
53
Mas como não se inclinava, a filha tentava inutilmente beijála, erguendo-se na ponta dos pés. A "condessa" nem mesmo percebia. Ela contemplava os buquês no chão.
- Tesouro, olha... Essas flores todas... São tantas que não posso colocar no vaso... Tenho que voltar para os meus amigos... E levá-los para jantar... Vou voltar
para casa muito tarde... O senhor pode ficar com Tesouro esta noite?
Pelo tom da sua voz, não havia a menor dúvida, para ela.
- Se a senhora quiser - disse eu.
- Vão lhe preparar um jantar e o senhor pode dormir aqui. Não tive tempo para responder. Ela se inclinava na direção
de Tesouro.
-Boa noite, Tesouro, querida... Tenho que ir ver meus amigos... Pense bastante na mamãe...
Ela a beijou furtivamente na testa.
- E mais uma vez, obrigada, senhor...
Num andar leve, foi encontrar-se com os outros no fundo do salão. No zunzunzum das conversas, achei que tinha reconhecido sua risada, muito aguda.
Pouco a pouco, as vozes se calaram, à medida que desciam da escada, e eu me vi outra vez sozinho com Tesouro. Ela me levou até a sala de jantar e nos sentamos um
defronte do outro a uma mesa comprida e retangular, com veios de mármore falso. Meu assento era uma cadeira de jardim salpicada de manchas de ferrugem e o de Tesouro
um tamborete ornado com uma almofada de veludo vermelho. Não havia outros móveis naquele cômodo. A luz caía sobre nós de um aplique com lâmpadas nuas.
Um cozinheiro chinês nos serviu o jantar.
- Ele é simpático? - perguntei. -É.
- Como se chama?
54
- Tiung.
Ela tomava a sopa com aplicação, o busto ereto. Ficou em silêncio toda a refeição.
- Posso me levantar da mesa?
- Pode.
Levou-me até o quarto dela, uma peça com lambris azulcéu. Os únicos móveis eram a cama de criança e, entre as duas janelas, uma mesa redonda coberta com uma toalha
de cetim, sobre a qual havia um abajur.
Ela entrou num banheiro contíguo e a ouvi escovar os dentes. Na volta, vestia uma camisola branca.
- O senhor pode me dar um copo d'água, por favor? Disse essa frase muito depressa, como se pedisse desculpas antecipadamente.
- É claro.
Vaguei procurando pela cozinha com a ajuda de uma lanterna que Tesouro me deu. Eu a imaginava com aquela lanterna pesada demais para ela na mão, sozinha à noite
em meio a sombras que a aterrorizavam. A maioria dos cômodos estava vazia. Na passagem, eu acendia a luz, mas muitas vezes os interruptores não funcionavam. Aquele
apartamento parecia abandonado. Nas paredes, riscos retilíneos indicavam que quadros haviam sido pendurados ali no passado. Num quarto que devia ser o da "condessa",
uma grande cama ocupava a cena, com a cabeceira de cetim branco acolchoado. Um telefone no chão e, em volta da cama, buquês de rosas vermelhas, uma caixa de pó,
um lenço.
Não sei por que remexi as gavetas da cômoda e achei uma antiga ficha de papel marrom com o nome Blache, Odette, Quai du Point-du-Jour, 15, Boulogne-sur-Seine. Em
baixo disso, duas fotografias; uma de frente, a outra de perfil. Logo reconheci a "condessa", mas estava mais jovem, tinha um olhar apagado, como nas fotografias
antropométricas.
55
À mesa da cozinha, o chinês jogava baralho na companhia de outro chinês e de um ruivo de pele branca.
- Vim buscar um copo d'água para a pequena.
Ele me apontou a pia. Enchi um copo e lancei um olhar sobre eles. Espalhados sobre a toalha de plástico, cupons de alimentação. Eram as apostas da partida. A porta
se fechou lentamente atrás de mim. Rangendo.
De novo aquela sucessão de cômodos vazios onde, sem dúvida, uma mudança apressada tinha se dado, não havia tanto tempo. Para que guarda-móveis? E a cama de cetim
branco, as duas cadeiras onde se empilhavam maletas e sacolas de viagem, o sofá solitário de encontro a uma parede, evocavam uma instalação provisória.
Ela me esperava na cama.
- O senhor lê umas páginas para mim?
Mais uma vez, parecia pedir desculpas enquanto me estendia um livro de capa desbotada: O prisioneiro de Zenda. Curiosa leitura para uma menina pequena. Ela me escutava,
de braços cruzados, com uma expressão de alegria nos olhos.
Terminado o capítulo, me pediu para não apagar a luz, nem o lustre do quarto ao lado. Tinha medo do escuro. Eu enfiava a cabeça pelo batente da porta para ver se
ela estava dormindo. Depois perambulei pelo apartamento e acabei encontrando uma poltrona de couro onde passar a noite.
No dia seguinte, a "condessa" me propôs um emprego de preceptor. Suas atividades sociais e artísticas não lhe permitiam mais cuidar de Tesouro. Ela, então, contava
com a minha ajuda. Deixei sem grandes remorsos o Curso Marivaux, onde tinha me matriculado para escapar à solidão. Agora que me confiavam responsabilidades e davam
cama e mesa, me sentia bem mais autoconfiante.
56
Eu acompanhava Tesouro à casa de uma senhora suíça que dirigia um curso particular na rua Jean-Goujon a escola Kulm. Tesouro parecia ser a única aluna daquele estabelecimento
e, toda vez que a ia buscar, de manhã ou à tarde, a encontrava na companhia daquela dama, bem no fundo de uma sala de aula tão sombria e silenciosa quanto uma capela
desativada. O resto do dia se passava à beira do gramado do largo Albert I ou nos jardins do Trocadéro. E voltávamos para casa pelo Quais.
Sim, tudo isso o inverno e a noite guardam como um cofre. Não era só do escuro que Tesouro tinha medo, mas também das sombras que projetavam sobre as cortinas o
abajur do quarto dela e, através da porta, o lustre do cômodo vizinho.
Via nelas mãos ameaçadoras e se encolhia na cama. Eu a tranqüilizava até que dormisse. Tentei por todos os meios dissipar aquelas sombras.
O mais simples teria sido abrir as cortinas, mas a luz do abajur poderia alertar a Defesa Civil. Então, eu deslocava o abajur às vezes para a direita, às vezes para
a esquerda: as sombras continuavam lá.
Minha presença a acalmava. Ao fim de uns quinze dias tinha esquecido as mãos sobre a cortina e dormia antes de eu terminar de ler o capítulo cotidiano de O prisioneiro
de Zenda.
Nevou muito naquele inverno e o bairro em que morávamos, o largo Albert I, o adro do Museu de Arte Moderna, mais adiante, as ruas em ladeira no flanco da colina
de Passy, tomavam o aspecto de uma estação de Engadine. E do lado da praça da Concorde, o rei dos belgas, sobre seu cavalo, estava branco como se acabasse de atravessar
uma tempestade de neve. Eu tinha achado, no fundo de uma loja de trocas, um trenó para Tesouro e a levava para escorregar numa aléia em suave declive dos jardins
de Trocadéro. À noite, na volta pela avenida de Tóquio, empurrava o trenó sobre o qual Tesouro vinha
57
sentada, um tanto ereta e sonhadora, como de hábito. Eu parava bruscamente. Fingíamos estar perdidos numa floresta. Essa idéia tinha o dom de diverti-la e o vermelho
lhe subia ao rosto.
A "condessa", por volta das sete horas da noite, mal tinha tempo de dar um beijo na filha e sumia para ir a uma festa noturna qualquer. A misteriosa Madeleine-Louis
telefonava durante tardes inteiras, sem prestar muita atenção em nós. De que se ocupava aquela mulher com rosto de boxeador? Numa voz seca, marcava encontros no
seu "escritório", cujo endereço indicava: "arcadas do Lido". Aparentemente, exercia grande poder sobre a "condessa", que não chamava de Sônia, mas de "Odette" e
eu me perguntava se não era dela que "vinha o dinheiro", segundo a expressão de Bouboule. Ela morava no largo Albert I?... Muitas vezes me pareceu que Sônia e ela
voltavam para casa juntas de madrugada, mas acho que Madeleine-Louis dormia freqüentemente em seu "escritório"...
Nos últimos tempos, tinha adquirido uma lancha, ancorada perto da ilha de Puteaux e a bordo da qual, um domingo, fomos visitá-la, Tesouro, a "condessa" e eu. Ela
tinha arrumado ali um salão, com pufes e sofás. Naquele dia, seu boné de marinheiro e sua calça branca lhe davam o ar de um jovem aspirante da marinha obeso e inquietante.
Ela nos serviu chá. Lembro-me de que sobre uma das paredes de madeira estava pendurada, numa moldura vermelha, a fotografia de uma amiga dela, uma artista de cabelo
curto, descendente de Surcouf e cujas canções falavam de escalas, de escunas claras e portos sob a chuva.
Teria sido sob sua influência que ela tinha comprado a lancha?
Ao cair da noite, Madeleine-Louis e a "condessa" nos deixaram, Tesouro e eu, no salão. Eu a ajudei a montar um quebracabeça que eu mesmo tinha escolhido e cujas
peças eram bastante grandes para que ela não tivesse dificuldade demais.
58
O Sena estava em cheia naquele inverno e a água chegava quase à altura das vigias, uma água doce, cujo cheiro de lama e lilás invadia o salão.
Nós dois navegávamos numa paisagem de pântano e Brière. À medida que remontávamos o rio, eu voltara a ter, pouco a pouco, a mesma idade que ela. Passamos ao largo
de Boulogne, onde eu tinha nascido, entre o Bosque e o Sena...
E aquele homem, de uns trinta anos que eu ouvia andar duas ou três vezes por semana, à noite, quando estava só com Tesouro... Tinha uma chave do apartamento e freqüentemente
entrava pela porta de serviço. Na primeira vez, apresentou-se a mim como "Jean Bori", "irmão da Sônia". Mas por que não tinha o mesmo nome que ela?
Madeleine-Louis tinha me contado, num tom seboso, que os O'Dauyé - a família de Sônia - eram nobres de origem irlandesa, que se fixaram na Polônia no século XVIII.
A propósito, por que Sônia se chamava Odette?
Aquele Jean Bori, irmão de Sônia, de rosto fino e pele bexiguenta, me parecia bastante simpático. Quando não fazia o cozinheiro chinês servir só para ele e vinha
mais cedo que de hábito, jantávamos juntos, Tesouro, ele e eu. Manifestava uma ternura distraída em relação à menina. Seu pai? Estava sempre cuidadosamente vestido,
com alfinete na gravata. Onde dormia, no largo Albert I? No quarto de Sônia ou em algum sofá perdido no fundo do apartamento?
Geralmente, voltava a sair tarde, com um envelope na mão, e sobre esse envelope estava escrito "Para Jean" na caligrafia grande de Sônia. Ele evitava Madeleine-Louis
e vinha nos visitar em sua ausência.
Uma noite, quis ver a menina dormir e sentou-se ao pé da cama para ouvir a leitura cotidiana do Prisioneiro de Zenda. Um de cada vez, beijamos Tesouro.
59
Na grande peça desolada que chamavam de "salão", o chinês tinha nos servido dois conhaques.
- Odette é mesmo uma menina engraçada...
E tendo tirado da pasta uma fotografia gasta, estendeu-a a mim.
- Isso foi o começo de Odette, há cinco anos. Foi notada por um sujeito importante nessa noite... Bela fotografia, não?
Mesas com toalhas brancas. E em torno dessas mesas, uma numerosa assembléia em traje de gala. Uma orquestra sobre um palco, bem no fundo. A luz viva dos projetores
iluminava um ambiente alpino, composto de três pequenos chalés, um pinheiro, montanhas de cartolina cobertas de neve artificial, como os telhados dos chalés e os
galhos dos pinheiros.
E diante dos que jantavam de smoking e vestido de gala, uns trinta caçadores alpinos, em duas fileiras, em posição de alerta, com esquis nos pés. O sol também brilhava,
com a neve artificial, e eu não ousava perguntar àquele Jean Bori se os caçadores alpinos ficaram em cima dos esquis, imóveis, até o final da noitada e qual tinha
sido, precisamente, o papel de Odette, naquela noite. Vendedora de programas?
- Era um baile de gala... A "noite do esqui"...
Para mim, aquela neve e aquele inverno em pacote que tinham marcado o "início de carreira" de Odette confundiam-se com a realidade. Bastava debruçar-se à janela
e contemplar a neve sobre o largo Albert I.
- Ela lhe paga bem, Odette, por seu trabalho de acompanhante?
-Sim.
Ele fez um ar pensativo.
- O senhor cuida muito bem da menina...
Ao acompanhá-lo até a escada, não pude deixar de perguntar se na verdade a irmã e ele pertenciam a uma família de aristocracia irlandesa emigrada para a Polônia
no século XVIII. Ele parecia não compreender.
60
- Nós, poloneses? Foi Odette quem disse isso? Ele enfiava a capa.
- Poloneses, se quiser... Mas poloneses da Porte Dorée... Sua gargalhada ressoava pela escadaria enquanto fiquei
imóvel no meio do vestíbulo.
Atravessei o apartamento deserto. Zonas de sombras. Tapetes enrolados. Marcas de quadros e móveis nas paredes e nos assoalhos nus, como depois de um saque. E os
chineses com certeza jogavam baralho na cozinha.
Ela dormia, com o rosto contra o travesseiro. Uma criança que dorme e alguém que vela é, afinal, alguma coisa, no meio do vazio.
Tudo se estragou por causa de uma idéia de MadeleineLouis que Sônia achou excelente: Tesouro iria trabalhar "no espetáculo". Se fosse bem dirigida, logo seria como
aquela menina americana, estrela de cinema. Sônia parecia ter renunciado completamente à carreira artística e me pergunto se ela e Madeleine-Louis não transferiam
para Tesouro esperanças frustradas.
Expliquei à diretora da escola Kulm na rua Jean-Goujon que Tesouro não assistiria mais às aulas. Ela ficou desolada com a perspectiva de perder sua única aluna,
e eu também, por ela e por Tesouro.
Era preciso montar para ela um guarda-roupa em função das fotografias que seriam enviadas às produtoras. Confeccionaram para ela os conjuntos de baliza, de patinadora
a la Sonja Henie e de pequena modelo. A mãe e Madeleine-Louis a levavam a sessões intermináveis de provas e, da janela, eu via partir sobre a neve do largo Albert
I o cabriolé de Sônia, de capota preta rebaixada. Eu sentia um aperto no coração. A pequena ia apertada entre a mãe e Madeleine-Louis, e esta batia com um chicote
no cavalo, à maneira de um domador de circo.
61
Fiquei encarregado de levá-la aos cursos. Curso de piano Curso de dança. Aulas de dicção com nossa professora da rua Beaujon. Sessões de pose num fotógrafo da avenida
de Iéna com suas roupas diversas. Curso de equitação num picadeiro do Bois de Boulogne. Lá, pelo menos, era ao ar livre e ela melhorava de cor, tão pequena, tão
loura, sobre um cavalo cinza malhado que se confundia com a neve e a bruma matinal.
Ela não dizia uma palavra e demonstrava a mais constante docilidade apesar do cansaço. Uma tarde em que MadeleineLouis e Sónia quiseram lhe dar uma folga, fomos
para os jardins do Trocadéro e ela dormiu sobre o trenó.
Logo depois tive que partir para o sul da França. Paris estava ficando perigosa e já não me sentia garantido com a carteira de identidade em seu nome que me tinha
dado um antigo colega do Valvert. Tesouro não se chamava Tesouro, Sónia não se chamava Sónia, mas eu não me chamava Lenormand.
Pedi a elas que me confiassem Tesouro que, com certeza, seria feliz no sul. Em vão. A gorda e dura Madeleine-Louis tinha a idéia fixa de fazer dela uma criança prodígio
da tela. E Sónia... Era tão influenciável, tão evanescente... E aquela mania de escutar a Sonata ao luar, o olhar vago... No entanto, sempre suspeitei de que escondia,
sob as tules e vapores, uma robustez suburbana.
Parti uma manhã antes da pequena acordar.
Em Nice, alguns meses mais tarde, vi uma fotografia dela na página de espetáculos de um jornal. Desempenhava um papel num filme que se chamava A encruzilhada dos
Archers. Estava de pé, de camisola, uma lanterna na mão, o rosto um tanto emagrecido e o ar de quem procurava alguém através do apartamento deserto do largo Albert
I.
Talvez por mim.
Nunca mais tive notícia dela. Tantos invernos se acumularam depois, que não ouso contá-los.
62
Bouboule saiu dali. Era redondo e sutil como uma bola de acha Mas e ela? Na rua Jean-Goujon, a escola Kulm, onde bOIiTbuscála pela manhã e à tarde, não existe mais.
Quando passo pelo Quais, me lembro da neve daquele tempo, que cobria as estátuas do rei dos belgas, Albert I, e de Simon Bolívar, simétricas, a uma centena de metros
uma da outra. Eles, pelo menos, não se mexeram, cada um tão rígido em seu cavalo e tão indiferente às correntes que deixam para trás, na água verde, as lanchas.
63
VI
Era sempre no refeitório, depois da distribuição da correspondência, que Pedro nos anunciava a expulsão de um aluno. O culpado então almoçava uma última vez conosco,
esforçando-se para se manter digno, fazendo ar de arrogante ou, ao contrário, contendo as lágrimas. Eu sentia inquietude e tristeza cada vez que um de nós passava
por aquela prova. Pensava nele como num condenado à morte e desejava que no último momento Pedro concedesse sua graça.
A expulsão de Philippe Yotlande tinha me emocionado apesar de esse aluno ser, como Bourdon e Winegrain, bem mais velho que eu. Quando entrei para a quarta série,
ele estava repetindo a primeira do segundo grau. Nosso diretor o tinha nomeado "aspirante" da "Bela Jardineira".
Como de costume, Pedro comunicou-lhe sua condenação no refeitório. Yotlande optou por não levar a coisa a sério e brincou com os camaradas de mesa durante toda a
refeição.
No início da tarde, nossos "aspirantes" nos faziam subir marchando o pátio da Confederação até a esplanada do Castelo. Pedro e todos os professores esperavam, de
pé no alto da escada, que se fizesse silêncio. Então, nosso diretor pronunciava a frase ritual, numa voz grave e sacudida:
64
- O colega de vocês, Philippe Yotlande, foi mandado embora do colégio.
Ele próprio e os outros professores mantinham-se em alerta.
-Yotlande Philippe, queira sair da fila e vir até aqui...
Yotlande deixou os colegas da primeira série e galgou a escada num andar esportivo. Tinha vestido o blazer ornado com o escudo do colégio que devíamos usar, toda
noite, para jantar.
-Yotlande Philippe, faça continência diante dos seus colegas...
Ele estava imóvel na escada, como se no cadafalso, um sorriso tímido nos lábios e o ar de quem pede desculpas.
- Yotlande Philippe, o senhor não é digno de permanecer entre nós. Eu o expulso do Valvert...
Mas, antes de tornar a descer a escada, Yotlande estendeu a mão a Pedro e a todos os professores numa tão evidente gentileza que nenhum deles recusou apertá-la.
Muitos anos depois, à noite, por volta das sete horas, à saída do Racing-Club de Paris, eu observava Philippe Yotlande de longe, sem ousar abordá-lo. Ainda se lembraria
do Valvert? Eu nem precisava falar com ele. Adivinhava seus estados de espírito...
Os braços apoiados no volante, o queixo sobre as costas da mão, permaneceu pensativo um longo instante dentro do velho automóvel conversível do qual nunca quis se
separar. Seria como amputar uma parte de si, pois aquele carro estava ligado a todo um período de sua vida.
O que fazer daquela noite de verão? Todo dia, desde a manhã, ficava à beira da piscina do Racing. Consumia uma Pambania e um suco de tomate no bar, depois acompanhava,
na tela da televisão, a etapa do Tour de France. E voltava para a beira da piscina.
Não tinha dirigido a palavra a ninguém desde o início do mês e se sentia bem assim. Duas ou três vezes, no Racing, tinha
65
evitado vultos conhecidos. Aquela selvageria o espantava; ele que tinha sido tão sociável.
O único momento em que sentia uma angústia fugidia era por volta das sete horas da noite. A perspectiva de uma noite e um jantar em tête-à-tête consigo mesmo o assustava
um pouco mas essa apreensão, à medida que atravessava o Bois de Boulogne, se dissipava. A noite estava suave e o Bois
lembrava-lhe muitas coisas. No Pré-Catelan,
lá em baixo, tinha assistido a algumas recepções de casamento. Seus amigos todos tinham acabado se casando, ao longo dos anos.
Mais longe, para o lado de Neuilly, o boliche do jardim da Acclimatation estava muito na moda na época distante em que Yotlande matava as aulas do cursinho, após
ter sido expulso do colégio de Valvert. Ele passava quase todas as tardes no boliche. Lá se encontravam os membros do "bando" da piscina Molitor ou da Muette e se
decidia onde seria a próxima festa-surpresa.
Por que razão tinha sido expulso do Valvert? Bem, tinha levado para o colégio uma mala cheia até à borda de blue jeans e discos americanos que vendia pela metade
do preço aos outros alunos. Um amigo do grupo da piscina Molitor lhe fornecia as mercadorias, que vinham diretamente do P.X., a loja a que só os membros do exército
americano na Europa tinham acesso.
P.X. - duas letras envoltas em tamanho prestígio, a loja inacessível que tanto fazia sonhar os rapazes da idade de Philippe Yotlande, hoje nada evocariam, pensou,
a alguém com vinte anos. P.X. fazia parte de todo um arsenal de velhos acessórios, como a pulseira de relógio daqueles tempos, sobre a qual tinha exigido que gravassem
"Jean-Philippe". Um primeiro nome duplo era mais chique.
Na Porte de la Muette, virou à esquerda e entrou no bulevar Suchet. Pegava-o todo dia até a Porte d'Aueteuil e depois, de novo, pelo bulevar Suchet, alcançava a
Porte de la Muette,
66
perto do bulevar Lannes, ganhava a Porte Maillot, fazia meia-volta
em direção à Porte cTAuteuil esperando que, ao final desse passeio sem objetivo, tivesse escolhido o local onde iria jantar. Mas
permanecia indeciso e percorria ainda por algum tempo, num andar muito lento, as ruas da décima sexta circunscrição.
Aos dezoito anos, tinha sido o pequeno príncipe daquele bairro. No seu quarto, no apartamento da rua Oswaldo Cruz, acertava uma última vez o nó da gravata diante
do espelho ou ajeitava a mecha na testa - ou às vezes para trás - com um toque ligeiro de algum lápis cosmético. Freqüentemente vestia blazer e calça cinza, o blazer
enfeitado com um escudo do Motor-Yatch-Club da Cote d'Azur, do qual seu pai era sócio; e como sapatos, mocassins italianos em cujas lingüetas enfiava uma moeda -
moda então muito seguida. Alguns até mesmo usavam aí luíses de ouro.
Presos na moldura do espelho, os convites para as noites de sábado. Sobre os cartões brancos estavam gravados nomes com partículas ou nomes duplos compactos da mais
sólida burguesia. Os pais convidavam os amigos da filha para o que chamavam de rallye. Todo sábado à noite, Philippe Yotlande hesitava entre uns dez rallyes. Escolhia
dois ou três e sabia que sua presença lhes conferiria um brilho particular. Com efeito, um rallye com Philippe Yotlande era um rallye mais bem-sucedido, mais animado
que os outros. Tinha sido, assim, um dos convivas mais requisitados para centenas e centenas de rallyes.
Rallyes dos bairros de Auteuil e Passy, organizados por uma burguesia e uma pequena nobreza pimponas, que freqüentavam as praias de La Baule ou Arcachon. Rallyes
mais obscuros, do bairro da Escola Militar: o pai, coronel ou funcionário, fazia um buraco no orçamento para que a filha pudesse convidar os amigos distintos do
liceu Victor-Duruy. A atmosfera era um tanto solene, os pais presentes durante a noitada, e bebia-se laranjada; na circunscrição XVI, rallyes ao mesmo tempo afetados
67
e bem-comportados, de uma burguesia togada, que passava o verão em Cabourg e o inverno em Chamonix; rallyes mais espetaculares da Muette e da avenida Foch onde os
rebentos dos bancos protestantes, católicos e judeus rodeavam os brasões, os mais cintilantes da aristocracia francesa e alguns nomes exóticos com consoantes chilenas
ou argentinas. Mas as noites que Yotlande preferia, e que os outros pais viam com maus olhos, por seu perfume de escândalo e lado "novo-rico", eram as que promoviam
o filho e as duas filhas de um advogado do comércio casado com uma ex-modelo, num daqueles apartamentos com terraços dos primeiros edifícios do bulevar Suchet.
Um núcleo se formou, bulevar Suchet, um bando de uns dez rapazes e moças, a maior parte dos quais possuía automóveis esporte e tinha estudado, como Yotlande, em
Valvert. O filho do advogado tinha ganho, quando fez dezoito anos, um Aston-Martin. Yotlande se contentava com um MG vermelho conversível. Outro dirigia um Nash
verde-claro...
A dona-de-casa, ex-modelo, às vezes participava das festas da filha, como se tivesse a idade dela. E uma das lembranças mais deslumbrantes de Philippe Yotlande
foi a noite de junho em que todo mundo dançava no terraço e a mãe dos seus amigos começou a flertar com ele. Hoje, devia ser uma mulher velha, mas na época, dir-se-ia
que tinha trinta anos. Manchas de sardas no rosto e nas espáduas. Naquela noite, entre ela e ele, o flerte foi muito "avançado" - segundo uma expressão depois caída
em desuso.
Ele tinha tido centenas e centenas de noites assim. As pessoas dançavam ou se isolavam num canto do terraço para jogar uma partida de pôquer ou se refugiavam num
quarto, como Yotlande, com uma das moças da casa. Sonhava-se ao som de uma música de Miles Davis, vendo balançar as árvores do Bois. Esse período feliz da vida de
Philippe Yotlande foi interrompido pelo serviço militar.
68
Mandaram-no para a Argélia dois meses antes dos acordos de Evian. Depois, ele ficou algum tempo em Val-de-Grâce e, por conta da intervenção de um amigo do pai,
completou seu período militar na qualidade de motorista de um oficial de marinha, um belo homem, antigo amigo íntimo do marechal de Lattre. Acompanhado por esse
oficial, Yotlande fazia longos passeios pela floresta.
Acabava de voltar à vida civil quando seu pai morreu. A mãe, corajosamente, tomou a frente dos laboratórios farmacêuticos Maurice Yotlande e, como Philippe estava
em idade de trabalhar, ficou encarregado das "relações públicas" da empresa da família... Não era brilhante no cargo, mas fechavam os olhos para isso em respeito
ao chorado doutor Maurice Yotlande. Alguns anos mais tarde, a mãe foi embora para o sul, após ter vendido os laboratórios Yotlande a um grupo estrangeiro, o que
lhe rendeu, e ao filho, grandes lucros. Desde então, Philippe, que tinha se familiarizado um pouco com a Bolsa, administrava folgadamente a fortuna deles.
Tinha chegado à encruzilhada do bulevar Suchet com a avenida Ingres. Um automóvel emparelhou e o motorista, botando para fora do vidro uma cara cor-de-rosa de buldogue,
xingou Yotlande, que replicou com um sorriso sonhador. Outrora, o teria perseguido e fechado, mas tinha passado da idade dessas gracinhas. Parou debaixo das árvores
da avenida Ingres e virou o botão do rádio. Um locutor, com voz metálica, comentava a última etapa do Tour de France. As árvores, os bancos, o pequeno quiosque de
madeira verde e um dos edifícios, à direita, levaram-no para vinte anos atrás.
Lá, na avenida Ingres, tinha ido visitar uma dinamarquesa bonita e famosa na época, com o nome de Annette Stroyberg. Um fotógrafo de Paris-Match, muito mais velho
que ele, tinha simpatizado com Philippe Yotlande e o tinha introduzido num ambiente menos burguês que aquele por onde até então tinha
69
andado. Assim, acercou-se no "Belle Ferronière" ou no "Bar dos Teatros" de umas cover-girls e starlets. Mas o encontro mais marcante, para ele, tinha sido esse
com Annette Stroyberg.
Voltou a ver Annette uma segunda vez no inverno seguinte, numa boate de Megève. Apresentou-se a ela e quis o acaso que um flash se acendesse. A fotografia apareceu
numa página inteira de revista com a seguinte legenda. "As estrelas do cinema e de toda Paris reúnem-se depois do esqui". Philippe Yotlande estava bem ali, astro,
sentado em companhia de Annette Stroyberg e uma dezena de outras estrelas. Sorria. A fotografia passou de mão em mão nos rallyes e valeu a Yotlande um acréscimo
de prestígio. Coqueluche da décima sexta circunscrição, fotografado em Megève ao lado de Annette Stroyberg, tinha atingido, aos dezenove anos, seu apogeu.
Foi depois do serviço militar que sentiu que, de maneira imperceptível, tinha envelhecido. Nos rallyes que continuava a freqüentar, havia cada vez menos pessoas
da sua idade: o trabalho, o casamento, a vida adulta os engoliam, uns após os outros. Yotlande se confrontava com pessoas para quem o calipso e o chachachá dos seus
dezesseis anos eram danças tão antiquadas como o minueto e que ignoravam o que tinha sido o P.X. Ele evitava mostrar-lhes a fotografia do Esquinade, que tinha amarelecido
em cinco anos como aquelas fotografias do verão de 39, onde se vêem os notívagos de Juan-les-Pins dançando a chamberlaine.
Mas havia nele um fundo de despreocupação e de alegria que o levava a aprender novas danças e a conservar seu papel de locomotiva.
Ela tinha dezoito anos e eles se conheceram numa noitada. Ela pertencia a uma família de industriais belgas. Os Carton de Borgrave possuíam apartamento em Paris
e em Bruxelas, castelo em Ardennes e vila em Knockke-le-Zoute. A filha parecia muito apaixonada por Philippe Yotlande e, ao final de alguns
70
meses, os pais o colocaram contra a parede: ou bem noivam, ou Philippe Yotlande não a veria mais.
A cerimônia aconteceu em Bruxelas e, à noite, os Carton de Borgrave receberam em seu apartamento da avenida Louise. Yotlande tinha convidado todos os seus amigos
de Paris. Sua futura família ficou desconcertada com as excentricidades a que se lançaram, por volta da meia-noite, aqueles jovens franceses. Uma das filhas do advogado
do bulevar Suchet, que tinha bebido champanhe demais, fez um strip-tease, enquanto outro convidado, a intervalos regulares, esvaziava um copo à saúde da rainha Elisabeth
da Bélgica e o jogava pela varanda.
A família tinha decidido que os noivos passariam umas férias na vila do Zoute e os Carton de Borgrave pediram à mãe de Philippe Yotlande que os acompanhasse no mês
de agosto. Nos primeiros tempos, Yotlande jogava tênis com a noiva e os amigos dela. Era o clima da vila, o Castel Borgrave, grande construção em estilo Tudor onde
a futura sogra, na hora do chá, o entretinha com todas as suas relações: a princesa de Rethy, de quem era tutora, o barão Jean Lambert, um rapaz que tinha horror
dos raios de sol? Era a juventude dourada do lugar pesadamente dourada - e fanática por kart? Ou aquele bando de homens maduros em trajes de iatismo, que se interpelavam
nos terraços dos cafés à beira do mar, esforçando-se por dar aos próprios gestos uma casualidade ao estilo Saint-Tropez? Era o céu de chumbo? O vento? A chuva? Era
demais para Philippe Yotlande. Ao final de dez dias, ele fugiu de Zoute no primeiro trem, tendo deixado uma carta pedindo desculpas àquela que tinha sido a sua noiva.
A noite caía sobre a avenida Ingres e ele resolveu enfim dar partida. Seguia o bulevar Suchet em direção à Porte d'Auteuil. A lembrança desse noivado rompido lhe
era dolorosa.
Na época, tinha sentido um certo alívio e retomado seus hábitos. Mas nos rallyes que insistia em freqüentar, faziam com
71
que sentisse que era velho. E claro, continuavam gostando dele. Tinha se tornado uma espécie de mascote.
Sim, as coisas tinham mudado muito. Sobretudo o físico de Philippe Yotlande não combinava com o dos mais jovens. Yotlande mantinha o cabelo curto e não tinha abandonado
os blazers dos seus dezoito anos. Usava de bom grado ternos bege, sapatos de solas crepe e conservava o bronzeado o ano inteiro. Assim permanecia com o que tinha
sido modelo dos adolescentes de sua geração: os americanos esportivos do início dos anos cinqüenta.
O tempo passava. E era preciso que Philippe Yotlande preenchesse seus momentos de lazer. Dedicava boa parte da vida ao tênis e aos esportes de inverno e começava
a ter hábitos de solteirão, passando na casa da mãe, em Cannes, um mês
por ano.
Os antigos amigos o convidavam para as férias, pois sabiam que Yotlande seria um hóspede agradável. Seus filhos o adoravam. Com eles, mais do que com os pais, reencontrava
a alegria comunicativa de outrora, do tempo dos passeios de barco a motor e idas ao Esquinade.
Pouco a pouco insinuava-se nele uma melancolia. A coisa tinha começado por volta dos trinta e cinco anos. E depois passou a gostar de ficar sozinho para "meditar",
como dizia - coisa que jamais lhe acontecera na vida...
Na Porte d'Auteuil, tornou a pegar em sentido contrário o bulevar Suchet até a Porte de la Muette. Parou na entrada da avenida Henry-Martin. No seu relógio de pulso
eram oito e meia e ele ainda não sabia onde iria jantar.
Não tinha importância. Ele tinha tempo. Seguia a avenida Henry-Martin e entrou à esquerda na avenida Victor-Hugo. Mais embaixo, na praça, saiu do carro, fechando
delicadamente a porta e, num andar lento, veio sentar-se na varanda do café Scossa.
72
Era ali que desembocava toda noite, à mesma hora, como se tivesse escorregado, sem ter consciência, em direção a um misterioso centro de gravidade. Existem lugares
que atraem as almas descompassadas e os rochedos inquebrantáveis sob a tempestade. Para Philippe Yotlande, o Scossa era um pouco o último vestígio de sua juventude,
o último ponto fixo na debandada geral.
No terraço do Scossa, outrora, marcavam-se encontros. Noites de verão, como a de hoje, onde flertes aconteciam, enquanto murmuravam a fonte e as folhas das árvores
e o sino da igreja anunciava o início das férias...
Ele pediu um ice-cream soda. Desde a época em que matava as aulas do cursinho que ia degustá-los com um amigo, lá onde faziam os melhores: sob as arcadas do Lido.
Quase noite. Alguns automóveis atravessavam a praça Victor-Hugo. Ele lançou um olhar em volta. Os clientes não eram numerosos no terraço. No fundo, à esquerda, percebeu
Mickey do Pam-Pam e não resistiu a contemplar, cintilante, debaixo do néon, sua cabeleira loura platinada, a onda que ela formava em cima da testa e as ondulações
que lhe imprimiam um movimento atormentado até a nuca. Mickey mantinha-se fiel ao penteado da sua juventude.
O drama da vida de Mickey tinha sido o fechamento de um bar dos Champs-Elysées, na esquina da avenida com a rua Lincoln. Ficava ali entronado há mais de vinte anos
e ali conheceu seu momento de glória, durante a guerra, quando os swings freqüentavam o lugar e Mickey era dos mais prestigiados entre eles. Seu título de nobreza
datava daquela época: Mickey do Pam-Pam. Depois de ter perdido seus domínios, emigrou tristemente para o Scossa.
De viés, Yotlande observava aquele velho jovem de sessenta anos, sozinho à sua mesa, a cabeça inclinada sob o peso da cabeleira pintada. Com que sonhava aquela noite
Mickey do
73
Pam-Pam? E por que certas pessoas permanecem, até sua velhice, prisioneiras de uma época, de um único ano de sua vida e tornam-se, pouco a pouco, a caricatura decrépita
do que foram no seu zénite?
E ele, Philippe Yotlande, não se tornaria, em alguns anos, uma espécie de Mickey do Pam-Pam? Aquela perspectiva lhe deu um frio na espinha, mas não tinha perdido
a natureza piadista e, surpreendendo-se ele próprio por estar a pensar em coisas tão graves, decidiu dar-se, a partir daquela noite, um cognome para o futuro: o
"Hamlet do Scossa".
A algumas mesas dele, uma menina de uns vinte anos estava sentada em companhia de um homem de cabelo grisalho, cara comprida e aspecto degentleman-rider, uma roseta
na lapela da jaqueta. O avô, pensou Yotlande. O homem se levantou e andou para o interior do café, apoiando-se numa bengala.
A menina permanecia sozinha à mesa. Era loura, com uma franja e bochechuda. Bebia sua granadina com auxílio de um canudo.
Yotlande a olhava fixamente. Ela lembrava sua ex-noiva belga.
E se, aproveitando da ausência momentânea do avô, fosse se apresentar a ela e marcasse um encontro, inclinando-se, como se para convidar uma mulher para dançar?
Ele a olhava beber a granadina. Faria trinta e oito no mês de junho, mas ainda não conseguia se convencer completamente de que o mundo não era uma eterna festa-surpresa.
74
VII
Meu colega Daniel Desoto também foi expulso do colégio e foi preciso achar um novo operador para a equipe da cabine de projeção.
Desoto passou pelo mesmo calvário que Yotlande: o anúncio da expulsão no refeitório, a subida da escada diante de todos os alunos e professores silenciosos, a voz
seca de Pedro declarando que era "indigno"... Mas sua atitude não foi a mesma que a do colega mais velho.
Algumas semanas depois da expulsão, veio nos visitar ao volante de um carro esporte vermelho, que estacionou na esplanada do Castelo. Era hora do recreio e formamos
um grupo em torno do carro, admirando-o. Desoto nos explicava que seu pai, que ele chamava de "Daddy", o tinha dado de presente de aniversário. E como nos admirávamos
de ele poder dirigir antes da idade permitida, nos revelou que Daddy "arrumou" para ele a nacionalidade belga: na Bélgica, "dirigia-se sem carteira", ao que parece.
Todos sabíamos a que ponto Daddy mimava o filho depois que Desoto nos tinha mostrado as fotografias do veleiro com que Daddy o havia presenteado no verão anterior.
Nosso grupo chamou a atenção do senhor Jeanschmidt que pediu a Desoto que sumisse da área. Tinha sido expulso por
75
causa do comportamento arrogante e dos caprichos de menino mimado, não se desejava mais vê-lo no Valvert. Sem hesitar, Desoto, um sorriso nos lábios, abriu lentamente
a porta do carro, tirou do porta-luvas um maço de cigarros americanos e o estendeu a Pedro:
- Tome, senhor Diretor... Da parte de Daddy...
Depois deu a partida cantando pneu.
Quinze anos depois, de passagem por um balneário do litoral atlântico, o encontrei no passeio à beira do mar. Ele me reconheceu de imediato. Tinha perdido as bochechas
gordas e na cabeleira castanha aparecia como que um penacho de cabelos brancos.
No dia seguinte, telefonou me convidando para almoçar no clube de tênis local.
Fazia um dia bonito. Sob a grande pérgula do clube de tênis, perto do bar, duas mesas estavam reservadas no nome do "Sr. Desoto".
Um homem de uns sessenta anos, de roupa de tênis, andava em minha direção num passo suave. Estendeu-me a mão e sorriu. Um sorriso de réptil. Devido à forma sinuosa
de seus lábios?
- O senhor está esperando Daniel?
- Estou.
- Doutor Réoyon. Sou amigo do Daniel.
E num gesto eclesiástico, com uma pressão sobre o meu ombro, me fez sentar outra vez.
Por que aquele doutor Réoyon imediatamente me causou mal-estar? Aí estão as coisas que não se explicam. Ele me observava, os olhos franzidos, um sorriso flutuando
sobre os lábios sinuosos. Eu procurava uma frase para romper o silêncio.
76
- O senhor conhece o Daniel há muito tempo?
- Sim. Muito tempo. E o senhor?
Havia nessa interrogação uma ponta de desafio, como se eu representasse para ele uma ameaça ou ele me considerasse seu rival.
Felizmente, Desoto vinha ter conosco. Vestia um short branco e um blusão azul-marinho, e estávamos, os dois, intimidados com aquele reencontro.
-Já conheceu o doutor Réoyon? É o meu melhor amigo disse-me ele, precipitadamente. - Sabe que devo muito a ele?...
- Mas não, Daniel, não - gritou o doutor. - É a sua amizade que me honra...
Depois, voltando-se para mim:
- Daniel é casado com uma mulher maravilhosa. O senhor
a conhece?...
- Minha mulher já vem - disse Daniel, sorrindo. - Quer tomar o aperitivo?
E como eu hesitasse, dirigiu-se ao barman.
- Dois americanos, Michel. E uma orchata para o doutor Réoyon.
Diante da presteza de "Michel", via-se que Desoto era uma personalidade ali no clube de tênis. Sentamo-nos nas cadeiras de madeira branca, a uma das mesas reservadas
no nome do "Sr. Desoto".
-Você sabe que tem diante de si um homem extraordinário
- disse Desoto, apontando o doutor. - Eu vou lhe explicar...
Réoyon sacudiu os ombros, modesto. Um grupo vinha em nossa direção, composto de uma jovem loura e diversos adolescentes com roupas de tênis.
- Gunilla, minha mulher - disse Desoto, apresentando-me a loura, muito bonita.
Ela mal me olhou e me fez um ligeiro sinal de cabeça. Depois sorriu para o doutor Réoyon. Este levantou-se e beijou-lhe
77
a mão com a mesma doçura com que me tinha pressionado o ombro há pouco.
Daniel Desoto pediu saladas e vinho rosé para nós, um ovo cru e água natural para o doutor Réoyon. Parecia conhecer os mínimos hábitos deste último.
A mulher de Desoto era sueca. Falava francês com uma voz grave e imperiosa. Os três ou quatro adolescentes que almoçavam em nossa companhia amontoavam-se em torno
dela, mas mostravam a mesma admiração por Daniel Desoto.
O doutor Réoyon chamava os adolescentes pelo primeiro nome e os tratava com a pródiga afeição casmurra de um velho chefe de escoteiros a ralhar com os lobinhos.
O assunto, durante a refeição, não foi outro além dos backhands ou serviços de Desoto neste ou naquele momento da manhã, e cada um o felicitava pela qualidade de
seus smashes. As únicas críticas provinham do doutor Réoyon e Desoto o escutava de boca aberta. Que papel desempenhava aquele doutor na vida do meu antigo colega?
Gunilla Desoto fumava negligentemente um cigarro e declarava que jogaria tênis à tarde. Os adolescentes brigavam para saber quem teria a honra de ser seu parceiro
com a mesma angústia com que os cortesãos do Rei Sol se perguntavam se seriam o próximo Marly. Réoyon, numa voz de cónego, lhes propunha tirar nos pauzinhos.
Cada pessoa que passava pela pérgula cumprimentava Daniel Desoto, sua esposa e o doutor Réoyon. O barman nos atendia e se adiantava aos nossos menores desejos. Daniel
e Gunilla Desoto eram os monarcas daquele clube de tênis; todos os membros dele, seus súditos e o doutor Réoyon, sua eminência parda. Sem dúvida, Dany tinha aquilo
que se costuma chamar nos clubes de tênis e de golfe uma "boa reputação". E eu me sentia orgulhoso por meu amigo, por constatar que tinha se casado com uma mulher
muito bonita e que tinha se tornado um homem importante.
78
Conheço bem as pedras preciosas e notei nos dedos de Gunilla Desoto uma esmeralda do Ural e um diamante da mais bela água. Ergui a cabeça e o meu olhar encontrou
o do doutor Réoyon. Estranho olhar, como o que lança um profissional que blefa a um recém-chegado do qual suspeita que também tenha cartas marcadas.
- Belas pedras, não? Recomendei-as a Gunilla por suas virtudes terapêuticas - disse Réoyon.
- Como? - perguntei.
- Isso quer dizer que o doutor Réoyon pode curá-lo não importa de que dor - declarou Gunilla, secamente.
- É verdade, meu velho - reforçou Daniel Desoto. - E o doutor Réoyon pode fazer você dormir num minuto... basta que lhe massageie a testa... Faça, doutor.
- Não seja criança, Daniel.
Os lábios sinuosos e debruados do doutor se contraíram. A dureza do seu rosto me gelou.
- Desculpe, doutor... Eu só queria mostrar a meu amigo do que o senhor é capaz...
- A medicina é coisa séria, Daniel. Ele voltou ao seu tom adocicado.
- O doutor Réoyon tem razão, meu querido - cortou Gunilla.
Durante toda a tarde permaneci sentado sob a pérgula. Daniel Desoto tinha reservado a quadra central para jogar tênis. Durante instantes, fazia uma breve aparição,
cada vez mais nervoso, repetindo que "não estava em forma", apesar dos estímulos que não cessavam de lhe dar seus jovens admiradores. Gunilla, inquieta, me explicava,
com sua voz grave, que Daniel não ficava parado no lugar e tinha necessidade de se consumir o tempo todo. Felizmente o doutor Réoyon olhava por ele.
No fim da partida, Daniel lançou num gesto raivoso a raquete de tênis contra uma das colunas da pérgula, e foi,
79
amuado como uma criança, para o bar. Deviam estar acostumados, os que o cercavam, com esses acessos de mau humor, posto que nenhum dos seus cortesãos - nem mesmo
o
doutor Réoyon - veio perturbar seu amuo e Gunilla esquivou-se, depois de apanhar a raquete de Daniel e sussurrar algumas palavras no ouvido do doutor Réoyon, que
sacudiu a cabeça
e desapareceu, por sua vez.
Bati no ombro de Daniel. Ele virou e sorriu, com aquele sorriso bom, um pouco triste, que tinha no tempo do colégio. Depois levou-me para o final da pérgula, onde
não havia ninguém. Sentamo-nos num banco.
- E Daddy? - perguntei.
Pois bem, Daddy continuava firme. Aos setenta e cinco anos, Daddy ainda agüentava o tranco. E Desoto me explicou que, justamente, passavam as férias ali, ele e a
mulher, com Daddy e Mammy- assim chamava a mãe. Todos eles ficavam no Bellevue, aquele hotel em que, todo ano, desde a infância, ele, Daniel, passava uma temporada
de um mês com Daddy e Mammy. O Bellevue - me dizia - era um pouco a casa deles. E o clube de tênis, seu quintal: Daddy o tinha matriculado lá com a idade de três
anos, infringindo o estatuto. E como éramos amigos muito antigos, revelou-me tudo: depois de um ano de tergiversações, no decorrer do qual Daniel tinha "comido o
pão que o diabo amassou", trabalhando com um amigo compreensivo do pai, Daddy tinha por fim aceito que se casasse com Gunilla, na condição de Gunilla abandonar sua
profissão de modelo e se converter ao judaísmo. Daddy tinha comprado para eles um grande apartamento na rua Jean-Goujon e Mammy cuidou da decoração. Sim, tinha sido
Daddy quem tinha lhe emprestado o dinheiro para que oferecesse jóias a Gunilla.
Daddy lhe tinha confiado um pequeno trabalho não muito absorvente em sua sociedade de importação-exportação de
80
filmes. A vantagem era que se viajava muito e não se perdia um Festival de Cannes, o que muito divertia Gunilla.
E o doutor Réoyon no meio disso tudo? Senti reticência em Daniel. Oh! O doutor Réoyon era uma espécie de conselheiro que os acompanhava em todos os deslocamentos.
Morava com eles na rua Jean-Goujon. Gunilla e ele deviam muito ao doutor Réoyon. E Daddy, o que achava daquele doutor? Desta vez Daniel não respondeu. Desviou o
assunto, declarando que ele e Gunilla queriam ter um filho. Na rua Jean-Goujon, no apartamento, o quarto da criança já estava pronto. Um belo quarto de bebê azul-céu.
E Daniel me confessou que às vezes dormia lá sozinho. Idéia esquisita, não?
Ele me acompanhou até a entrada do clube de tênis, que marcava a fronteira do seu reino. Pareceu tocado quando lhe disse que transmitisse minha amizade e lembranças
a Daddy e a Mammy. Atravessei a estrada nacional e me virei. Então o vi, acenando com o braço, o ar abatido de um eterno príncipe de Gales, a mecha branca na testa,
aquela mecha era o seu único sinal de envelhecimento, mas na qual não se podia acreditar, uma mecha tão branca que os cabelos pareciam tingidos.
Alguém me pressionava levemente no ombro. Virei-me. O doutor Réoyon.
- Gostaria de falar com o senhor - disse ele, numa voz surda.
Levava debaixo do braço uma pasta fina de couro marrom, cuja cor contrastava com o branco imaculado de sua roupa de tênis. Por que acaso estava ali? Tinha nos seguido,
a Daniel e a mim, na nossa saída do clube? Ou tinha se postado à beira da estrada me esperando?
- Venha por aqui, por favor...
Logo chegamos à altura de um golfe em miniatura cujo terreno
81
estava protegido da Nacional por barreiras de madeira branca e moitas de alfeneiro. Uma mulher loura estava atarefada atrás do balcão de uma pequena construção
em estilo rústico com telhado de palha.
- Uma partida, doutor?
E já lhe estendia um taco de golfe.
- Não, não. Só tomar alguma coisa.
Ele me fez sinal para que me sentasse a uma das mesas.
- Dois xaropes de orchata...
- Pois bem, doutor.
Ele tinha colocado a pasta por sobre a mesa e acariciava seu couro com a ponta dos dedos.
- Eu preferiria que o senhor não visse mais Daniel - disse ele secamente.
- Por quê?
- Porque acho que não é bom para ele.
Ele me trespassava com seu olhar de serpente. Queria me assustar, sem dúvida. Mas eu, eu tinha mais vontade era de rir.
- De que modo eu lhe poderia fazer mal? Sou seu amigo de infância...
- Acaba de pronunciar a palavra certa.
Seu tom tinha se adocicado. De novo aquela maneira sebosa, dental, de falar. E continuava a acariciar o couro da pasta. A mão ia e vinha e uma imagem me atravessou
o espírito com a precisão e a força de uma vidência: aquela mão, eu a via acariciar docemente as nádegas de Gunilla Desoto.
- O senhor se entende bem com a mulher de Daniel? perguntei à queima-roupa.
- Muito bem, por quê?
- Bem...
- Há pouco, o senhor pronunciou uma palavra capital disse Réoyon, nervoso. - A palavra "infância"... Daniel permaneceu uma criança... É exatamente esse o problema...
82
Saboreou lentamente um gole de xarope de orchata, depois moveu os lábios como um degustador que prova um novo vinho.
- E em relação às crianças, é preciso seguir-se uma determinada conduta... É preciso muita autoridade... Estou aqui por isso... Os pais de Daniel são muito frágeis
e muito velhos... Sou o único que pode resolver o problema... É claro, com o acordo total de sua esposa.
Agora, com o indicador, ele acariciava o fecho-ecler da pasta.
- Se digo que prefiro que o senhor não veja mais o Daniel, é para o seu bem... Tudo o que lhe lembra a infância ou o colégio só faz agravar o seu estado... Fico
desolado de lhe dizer que o senhor teria uma influência nefasta sobre ele... Deixe-o tranqüilo.
Com certeza o meu sorriso não lhe agradava.
- A situação é bem mais séria do que o senhor pensa... Os pais de Daniel compreendem muito bem e me dão carta branca... Tenho aqui todos os papéis que provam o que
estou lhe dizendo...
Puxa o fecho da pasta com lentidão e a delicadeza que se dedica a separar duas pétalas de uma flor.
- O senhor quer ver os papéis?
- Não vale a pena.
Eu avançava a cabeça em sua direção mantendo o sorriso nos lábios, um sorriso sem dúvida ameaçador.
- Sou tutor de Daniel... Tutor completamente oficial murmurou Réoyon.
- E o que acha a mulher dele disso tudo? - perguntei.
- Ela me aprova totalmente. E me ajuda em minha tarefa. Ele tinha se levantado e estava teso à minha frente, na sua
roupa de tênis, a pasta de couro marrom debaixo do braço. Dos arbustos me vinha, às lufadas, um perfume de alfeneiro, tão forte como o do labirinto do Valvert.
- O senhor vai me desculpar - disse ele -, mas a senhora Desoto me aguarda para uma sessão de massagem.
83
VIII
Todo ano, no mês de junho, num domingo, a festa do colégio reunia os parentes e amigos. Chamavam-na de "Festa dos Esportes" e essas duas palavras, por si sós, indicavam
o espírito particular da nossa escola, onde o esporte tinha primazia sobre tudo. No escudo azul com triângulo dourado costurado nos nossos blazers estava escrita
a palavra ESPORTE na base do triângulo, como uma divisa ou lema.
Kovnovitzine triunfava naqueles domingos. Eu o revejo, a cabeça erguida, de camisa Lacoste, alpargatas e calça branca, presidindo a ordem da cerimônia como no passado
o marquês de Cuevas fazia com seus bales. Chura, seu labrador, tinha permissão excepcional para passear sem coleira. E nós, os alunos, rivalizávamos nas proezas:
corridas de cem metros, exercícios atléticos, percurso cronometrado da pista Hébert, prova de salto com vara. A festa terminava ao crepúsculo, com uma partida de
hóquei, de que o próprio Pedro era o árbitro.
As estrelas desse dia eram, sem dúvida, os saltadores com vara. O melhor recebia uma taça da mão de Kovnovitzine. Mas, naquele ano, eu prestava bem menos atenção
nas façanhas dos meus camaradas do que em Martine, a irmã de Yvon.
Ela estava deitada de maiô no gramado à beira da piscina. Os heróis do dia a cercavam: os mais velhos que nós, Christian
84
Winegrain e Bourdon, grandes vencedores da prova de salto com vara, Philippe Yotlande, McFowles, Charell, e outros mais... A todos Yvon tinha apresentado a irmã,
e se mantinha ao lado dela, tímido e grave, como um intérprete ou escudeiro. E orgulhoso do sucesso que Martine fazia.
E eu também, a observar a maneira como eles se esforçavam para brilhar diante dela, sentia um certo orgulho. Menina alguma, eu tinha certeza, tinha aquela cabeleira
cor de cobre, aqueles olhos claros, aquele nariz um pouco arrebitado na ponta, aquelas coxas longas e aquele movimento gracioso do busto ao virar-se e acender um
cigarro no isqueiro que lhe estendia Winegrain. Era minha amiga de infância.
O irmão e ela moravam no vilarejo, na rua DocteurDordaine, numa casa com a fachada coberta de hera e Yvon freqüentava o colégio na qualidade de semi-interno. Tínhamos
inveja dele por voltar para casa toda noite. O pai exercia o ofício de viveirista. Era nos morros, atrás da casa, que ocorriam antigamente as nossas brincadeiras
de esconde-esconde: morei naquele vilarejo durante três anos e conheci Yvon e a irmã na escola Jeanne-d'Arc. Yvon, ela e eu tínhamos a mesma idade na época - nove
ou dez anos -, mas naquele tempo me parecia que Martine era grande como agora, à borda daquela piscina. Era ela que preparava nossa merenda e nos levava para passear
no bosque até o lugarejo dos Mertz, era ela que decidia as brincadeiras de esconde-esconde ou papagaio.
A única vantagem que eu tinha sobre os outros era ter conhecido Martine bem antes deles.
Em sua homenagem, Winegrain e Bourdon lançavam-se em mergulhos cada vez mais espetaculares: o primeiro, no salto do anjo; o segundo, no salto carpado, após ter andado
sobre as mãos até a beira da piscina. Na ocasião da festa dos esportes, jogava-se azul-de-metileno na piscina, e quando voltavam da água e sentavam-se entre nós,
Winegrain e Bourdon traziam nos braços e pernas como que rastros de tinta.
85
Um homem de uns quarenta anos veio ter conosco no grupo. Ex-aluno do nosso colégio ou simplesmente um daqueles Que Yotlande e Winegrain encontravam nas diversas
noitadas de que eram locomotivas, em Paris?
Também aparentava estar encantado com Martine. Não tirava os olhos dela. Há pouco tinha se apresentado com uma voz franzina: da Silva e como tinha feito alusão a
uma viagem iminente a São Paulo, concluí que era brasileiro. Falava francês sem o menor sotaque. Por que Winegrain, Bourdon e Yotlande o chamavam familiarmente de
"Baby"? Por causa do rosto redondo e do cabelo castanho cacheado? De um ciciar quase imperceptível?
-Você é... aluna do colégio? - perguntou ele a Martine.
Winegrain caiu na gargalhada.
- Ela? Aluna do Valvert? Pobre Baby... Depois, virando-se para Martine:
-Desculpe... Ele não está acostumado... No Brasil...
- O senhor é brasileiro? - perguntou Martine. Seu interesse repentino por Baby da Silva nos inquietava, a Yvon e a mim.
- É bom você perguntar - disse Winegrain. - Desde que conheço Baby, tenho uma dúvida a esse respeito.
- Não o escute senhorita - disse Baby, com sua voz franzina. Sou brasileiro e, se quiser, mostro meu passaporte.
Ela não assistiu à partida de hóquei. E no entanto Winegrain e Bourdon suplicaram que ficasse, afirmando que sua presença era necessária. Não se deixou convencer.
No vestido azul-céu, dirigia-se ao portão do colégio no andar preguiçoso que já tinha naquelas tardes de quinta-feira, no bosque, em que Yvon, ele e eu íamos colher
castanhas.
Winegrain tentou pegá-la pelo braço, mas ela se soltou, findo.
- Não quer fingir que acabamos de nos casar? - perguntou ele a ela.
86
- Não, não quero me casar com você.
- Então, com quem quer se casar? - perguntou Bourdon.
- Com o mais rico - disse Martine.
O mais rico era com certeza Winegrain, que tínhamos apelidado de "filho da caixa registradora". Ou McFowles, cuja avó americana tinha criado os produtos de beleza
Harriet Strauss.
-Você sabe, eles são todos ricos - disse Yvon, num tom abatido.
- O mais rico acho que é mesmo Baby - disse Winegrain. Não é, Baby?
Baby sacudiu os ombros.
- Não esqueça, senhorita, de que devo lhe mostrar o meu passaporte - disse Baby com um sorriso insinuante.
-Não esqueci...
De que natureza era o olhar que ela fixava sobre aquele Baby da Silva? Irônico? Interessado? Ou os dois ao mesmo tempo?
Ela deixou o grupo sem dizer até-logo, como se estivesse cansada da nossa companhia. Deixava-nos ali plantados, atravessava o portão do colégio, a pequena ponte
sobre o Bièvre. E nós, atrás das grades, seguíamos com os olhos a marcha terna de seu vestido no crepúsculo.
Daí em diante, vinham buscá-la todo sábado num Lancia ou num grande automóvel inglês que da Silva dirigia. No início, este passava no colégio para pegar Winegrain,
Bourdon e dois ou três outros que iam apertados no banco de trás. Baby freava bruscamente diante da casa da rua Docteur-Dordaine e buzinava diversas vezes. Martine
nos beijava, a Yvon e a mim, o espírito já ocupado em outra parte. Corria até o carro e este descia a mil a avenida ladeada de tílias que desembocava na Nacional.
87
Eu ficava no vilarejo com Yvon. Ele não tinha mais vontade de ir a Paris, como tinha o hábito de fazer, na companhia da irmã nas tardes de sábado. Nesses dias eu
esperava pelos dois na estação Montparnasse. Assistíamos a uma sessão de cinema ou então Martine nos levava às lojas. No verão, passeávamos no Bois de Boulogne e
jantávamos um sanduíche na varanda de um café. Eu os acompanhava a Montparnasse na hora do
último trem.
Agora, sem Martine, as tardes pareciam vazias e sentíamos ciúmes de Winegrain, Bourdon, Yotlande e dos outros membros do bando do qual ela agora fazia parte. Eles
nos desprezavam, a Yvon e a mim, por causa da nossa idade. Todos tinham dezenove ou vinte anos, apesar de ainda serem alunos da segunda e da primeira séries.
E Baby da Silva, qual seu exato papel entre eles?
Ela voltava para casa em torno das dez horas e eu ainda me encontrava com Yvon no quarto dele ou no jardim. Fazia o mínimo de barulho possível, mas nós surpreendíamos
o deslizar furtivo de seus passos. Nunca queria nos dizer de maneira precisa como tinha passado o dia. Às vezes nos contava que os outros a tinham levado ao cinema
ou a uma festa-surpresa. Fazia-nos perguntas, por sua vez. Parecia um pouco incomodada de nos abandonar aos sábados e uma noite, sem dúvida para nos mostrar que
tinha independência, nos explicou que Winegrain a quis presentear com um isqueiro de ouro e laca preta, mas que tinha recusado o presente. Tinha também recusado
o Beauty Case Harriet Strauss" em crocodilo azul, presente de McFowles.
Winegrain, ao que parece, tinha perguntado a quem ela "concederia seus favores". E ela tinha respondido que "não os concederia a ninguém".
Nos esforçávamos, Yvon e eu, para sabermos mais no colégio escutando a conversa dos membros do bando deles. Mas,
88
quando nos aproximávamos, falavam baixo e escarneciam, como se soubessem alguma coisa sobre Martine que nós dois não pudéssemos ouvir.
Um dia, durante o recreio grande no gramado, Winegrain nos declarou, a Yvon e a mim, num tom ácido, que Martine tinha uma "queda" por Baby da Silva.
Com efeito, agora era Baby e somente ele quem vinha buscála no sábado à rua Docteur-Dordaine. Yvon tinha perguntado à irmã se não podíamos os dois acompanhá-la,
mas ela recusou num tom seco. E depois, dando-se conta que tinha nos magoado, tinha dito:
- Vou falar com ele da próxima vez.
Mas não deve ter falado nunca, e nós não ousávamos lembrar-lhe sua promessa.
Ela espiava da janela do quarto de Yvon para ver o Lancia. Não estava mais conosco. Seu vestido novo e os sapatos de salto a envelheciam. Ela se maquiava.
Ele já não precisava buzinar. Mal o Lancia parava diante da casa, Martine descia muito depressa a escada. Ele já tinha aberto a porta e ela se enfiava no carro ao
lado dele. Ele dava a partida bruscamente e aquela pressa nos parecia esquisita, a Yvon e a mim.
Ele a trazia cada vez um pouco mais tarde no decorrer das semanas. Primeiramente às dez horas, depois às onze horas, depois à meia-noite. Esperávamos ela voltar,
Yvon e eu.
Um sábado, esperamos até às duas horas da manhã. Os pais de Yvon estariam ausentes no sábado e no domingo, e uma tia
89
velha que morava num pavilhão atrás da casa nos preparava as refeições e tomava conta de nós. Mas ela ia dormir muito cedo
Começamos a nos inquietar e Yvon quis telefonar para Winegrain ou Bourdon, mas não tínhamos o endereço, nem o número do telefone de nenhum dos membros do grupo.
Aquele Baby da Silva figurava no catálogo? Morava em Paris? Quando perguntávamos, Martine nunca respondia. E, no entanto, devia saber muito bem o endereço dele.
Ouvimos um barulho de motor que se destacava cada vez mais nitidamente do silêncio. O Lancia apareceu no fim da avenida ladeada de tílias. A carroceria cinza brilhava
debaixo da lua. Yvon apagou a luz do seu quarto para que eles não nos vissem atrás da janela. O Lancia subia a ladeira em marcha lenta. Parou diante da casa mas
o motor continuou ligado. Batida de porta. Risadas. A voz de da Silva. Atrás da janela prendíamos a respiração, Yvon e eu. Martine se debruçou em direção ao vidro
e beijou Baby. Este, antes de dar a partida, fez o motor roncar bem forte, como era hábito seu. Hábito esquisito. Martine, de pé, imóvel, à beira da calçada, esperava
que o carro virasse na esquina da avenida.
Ela bateu a porta da casa depois de passar e, na escada, seus passos estavam mais pesados que de hábito. O ruído de uma queda. Ela caiu na gargalhada. Estava bêbada?
Empurrou a porta do quarto de Yvon. Seu vulto se recortava no umbral, à luz do corredor.
- O que é que vocês dois estão fazendo no escuro?
Ela acendeu a luz e olhou cada um com curiosidade. Depois caiu na gargalhada outra vez.
- Estávamos lhe esperando - disse Yvon.
- É uma boa idéia me esperar assim.
Suas bochechas estavam ligeiramente rosadas; seus olhos, brilhantes. Eu tinha certeza de que, se a tocássemos, uma corrente elétrica nos atravessaria. Seus cabelos,
seus olhos claros, sua boca vermelha, sua pele pareciam fosforescentes.
90
- Tenho uma grande notícia para lhes anunciar. Estávamos os dois sentados no chão, as costas apoiadas de encontro à cama de Yvon.
- Não fiquem assim... Estão com a cara de enterro. -Você se divertiu bastante? - perguntou Yvon num tom seco.
- Sim. Muito. Mas tenho algo importante para lhes anunciar... Podíamos descer para a sala...
Ela nos puxou pelo braço, rindo. A seu perfume misturava-se um odor muito ligeiro de álcool, e eu me perguntava se era de conhaque ou de rum.
No salão, ela se dirigiu ao armário de bebidas e o abriu.
- Vamos beber alguma coisa?... De acordo?
Ela pegou um frasco que continha um líquido cor de granada e no qual estava presa por uma correntinha uma placa e prata em forma de coração.
Serviu bebida nos copos.
- Agora vamos brindar!
Brindamos. Pela primeira vez, bebíamos bebida alcoólica naquele salão e nos sentíamos um tanto incomodados, Yvon e eu, como se estivéssemos cometendo um sacrilégio
e tivéssemos entrado ali através de arrombamento.
Ela se deixou cair numa das poltronas.
- Pronto! Decidi me casar - disse Martine de uma vez. Yvon a encarava com os olhos arregalados. Uma expressão
de terror passava em seu olhar.
- Você? Casar?
Ela apertava entre os dedos a placa de prata da garrafa de licor. Enfiou-a no pulso.
- Então você vai nos largar?
Agora era ela que examinava o irmão, estupefata. A p de prata tinha escorregado do pulso.
91
- Largar vocês? O que quer dizer com isso?
- E com quem vai se casar? - perguntou Yvon.
- Com Baby... Baby da Silva...
Aquele sobrenome me dava vontade de rir. Um riso nervoso. Baby.
- O brasileiro?
- É... Sabem, ele é muito simpático... Tenho certeza de que vocês vão se entender bem com ele.
- Mas talvez você não tenha a necessidade de se casar disse Yvon, numa voz tímida.
Fez-se um instante de silêncio. Eu também tinha vontade de intervir. Buscava palavras para dizer a ela que afinal de contas o casamento era inútil. Mas não ousava
abrir a boca.
- Sim... sim... vou me casar...
O tom era seco, sem réplica. Mantínhamo-nos, cada um ereto, nas poltronas.
- Não vejo o que é que isso vai mudar... - disse Martine. Tudo será como antes... Olhem... Ele me deu um anel de noivado.
Estendia a mão para que admirássemos o anel. Eu era bem jovem na época, mas conhecia pedra preciosa. Aquela era um soberbo diamante branco-azul engastado em platina.
Ela se inclinou em nossa direção.
- Baby é muito rico... Tem grandes propriedades no Brasil... Eu direi a ele que não podemos nos separar... Vocês virão morar conosco... Aliás, ele está disposto
a fazer tudo o
que quero...
Mas àquilo faltava convicção. Alguma coisa chegava a seu fim. Eu lancei um olhar à minha volta. Conhecia cada móvel, cada recanto daquela sala. Era ali que brincávamos
depois das caminhadas no bosque, ali que festejávamos os aniversários de Martine e de Yvon. Um ou dois Natais também. O pinheiro diante da porta envidraçada em rotunda.
Havia uma fotografia sobre a cômoda, numa moldura de couro: Yvon e eu, de calças
92
curtas, e Martine, apoiada contra o tronco de uma árvore, trincava uma maçã.
- Bilionário... Baby é bilionário, sabem... - repetia Martine.
- Aliás, vou pedir a ele que compre para vocês uma casa no Brasil...
Ela não tinha tirado o casacão. A última vez, eu pensava, que estaríamos reunidos no salão...
Vou me lembrar sempre daquele prédio da rua de BellesFeuilles, na parte da rua que desce até o trevo Bugeaud. Winegrain tinha telefonado para Yvon por volta das
cinco horas da tarde naquele sábado, para dizer que "eles" estavam comemorando o noivado de Martine e Baby da Silva e desejavam
a nossa presença.
Tomamos o trem e em Montparnasse o metrô até Porte Dauphine. O prédio ficava, pois, como nos tinha indicado Winegrain, na esquina da rua de Belles-Feuilles com um
beco do mesmo nome. Fachada bege, sem varandas nem cornijas. Janelas pequenas e quadradas, algumas em forma de vigia. O Lancia estava estacionado no fundo do beco.
À direita do pórtico, uma placa de mármore com letras apagadas: "Apartamentos mobiliados".
Já era noite. Fevereiro? Março? Gotas de chuva. Tiramos nossos pulôveres, Yvon e eu, pois a temperatura estava quente.
Um longo corredor com tapete de veludo vermelho. Do lado esquerdo, portas envidraçadas. Winegrain nos esperava no umbral de uma delas e nos fez sinal para entrar.
Não se poderia dizer se se tratava de uma sala de espera ou do restaurante de um hotel. Paredes revestidas de tecido xadrez. Mesas redondas e cadeiras de madeira
escura. Bourdon, Leandri e um outro, que eu não conhecia, chafurdavam no sofá de couro contra a parede.
93
- Sentem-se - disse Winegrain.
Sentamo-nos a uma das mesas, sobre a qual estavam xícaras, um bule de chá, uma garrafa e taças de champanhe.
- Um pouco de chá? Ele encheu duas xícaras.
- Martine não vai demorar. Ela está lá em cima com Baby...
- Ele mora aqui? - perguntou Yvon com uma voz branca.
- Mora. Aluga um quarto mobiliado - disse Winegrain. Os outros fumavam em silêncio. Leandri tinha adormecido.
A luz vinha de uma lâmpada de abajur cor-de-rosa, perto de nós e também através de dois batentes envidraçados, de uma cabine telefônica incrustada na parede do fundo.
Estou realmente contente por vocês dois estarem aqui.
Os outros agora nos espiavam com uns sorrisos esquisitos.
- Martine quer, então, casar-se com Baby - recomeçou Winegrain, com a voz sentenciosa de um professor que enuncia um teorema. - Eu, pessoalmente, não concordo. E
vocês?
- Não sei - disse Yvon.
Fazia mesmo muito calor naquela sala e eu suava. Yvon também.
- Mas vocês, vocês são da família... Vocês poderiam influenciá-la... Acho que deviam falar com ela...
Ele se serviu uma taça de champanhe e a bebeu de uma vez só. O vermelho lhe subiu ao rosto. Tinha um brilho de maldade no olhar.
- Conheço Baby há muito tempo... Seria de fato um erro se ela se casasse com Baby... sobretudo...
Ele apertava o punho de Yvon.
- Sobretudo não pensem que é ciúme da minha parte... Voltava-se para os outros, como se para usá-los como testemunhas.
- Você não tem motivo para ter ciúme desse sujeito - disse Bourdon.
94
- Só fiquei decepcionado - suspirou Winegrain. - Martine me decepcionou... Pensei que tinha um gosto melhor...
- Martine faz o que tem vontade de fazer - disse secamente Yvon. - Isso não lhe diz respeito.
Eu me perguntava por que permanecíamos sentados naquele salão. Yvon pensava o mesmo que eu, tanto que se levantou.
- Espere - disse Winegrain. - Vou dizer a eles que desçam... Eles não sabem que vocês estão aqui... É uma surpresa.
Dirigiu-se à cabine telefônica num andar titubeante, empurrou os batentes envidraçados com um impulso de ombro e lentamente tirou o fone do gancho. Yvon estava de
pé.
Ele saiu da cabine e veio dar um tapinha nas costas de Yvon.
- Baby já está descendo... A sua irmã não demora. Ficamos de novo sentados, os olhos fixos na direção da grade do elevador, no início do corredor à esquerda.
- Está um forno isto aqui - disse Winegrain.
Foi abrir uma das janelas. Um cheiro de chuva e folhagem invadiu a sala e o vento levantou de leve a toalha branca da nossa
mesa. O elevador descia com um gemido agudo, monocórdio. A grade abriu-se, dando passagem a da Silva. Ele entrou no salão e pareceu surpreso com a nossa presença,
de Yvon e minha, mas nem sequer nos disse bom dia. Estava usando um terno azul-marinho muito sóbrio.
- E Martine? - perguntou Winegrain.
- Ficou deitada - disse da Silva, com sua voz curiosa. - Tenho que ir trabalhar... Tenho que ir buscar uma cliente americana na estação de Lyon...
- Vai demorar muito?
- Não... Tenho que deixá-la em Meuilly... A merda é que antes preciso pegar o Daimler na garagem... E depois, a americana não quer que eu a deixe sozinha... Não
consegue dormir sem que eu segure a sua mão...
95
Winegrain nos lançava olhares furtivos e curiosos, como se quisesse verificar o efeito que essas palavras tinham sobre nós. Seria dessa americana o diamante branco-azul
que da Silva tinha dado a Martine como anel de noivado?
Da Silva entrou num pequeno cubículo ao lado da cabine telefônica e, à saída, estava com um boné azul-marinho de viseira preta de motorista particular. E aquele
boné, estranhamente, lhe dava um outro rosto, diferente daquele que conhecíamos. Não tinha mais o aspecto infantil, mas a pele branca e inchada de certos barmen
noturnos, o olho franzido e os lábios finos, sobretudo o superior, inexistente. O todo dava a impressão de moleza e dureza ao mesmo tempo.
-Até logo pessoal... Esta noite não vou poder acompanhar Martine. Conto com vocês...
Até a voz dele não era mais a mesma. Ciciava.
- Vai ao círculo Gaillon à noite? - perguntou Winegrain.
- Se a americana dormir logo...
- Então jogue por mim.
Winegrain lhe estendeu um maço de notas. Da Silva as contou, depois de umedecer o indicador com cuspe.
- Espero tirar a sorte grande. Até!
Deu meia-volta à maneira aplicada de um dançarino de salão e saiu da sala. Um instante depois, ouviu-se o motor do Lancia.
- Agora temos que conversar os três - disse Winegrain inclinando-se para nós. - Conto com vocês para prevenir Martine... Esse sujeito não é bilionário, nem brasileiro...
Ele soltou um risinho abafado.
- Eu o conheci quando ele trabalhava no boliche da Porte Maillot... Agora, é motorista... E amanhã...
Yvon tinha abaixado a cabeça como se não quisesse ouvir.
- Faz-se passar por da Silva... Mas seu nome verdadeiro é Richard Mouliade... Mouliade... Mou-lia-de...
Aquele nome com aquelas sonoridades líquidas me sobressaltava
96
o coração. Era como uma contracorrente tragando o corpo de alguém.
-Além do mais, tem processo contra ele... Não serve mesmo paraMartine...
De novo, aquele riso abafado. O chão me faltava. O salão balançava. Realmente me sentia mal do coração. O vento inflava a toalha por baixo e eu procurava alguma
coisa a que me agarrar. Meu olhar fixou-se num grande lustre apagado, bem acima de nós, cujos pingentes cintilavam com um brilho cinza.
- O que querem, quando se está apaixonada... - murmurava Winegrain
97
IX
Passamos as tardes de segunda-feira do outono fazendo trabalhos que o senhor Jeanschmidt chamava de "jardinagem", raspando as folhas mortas dos gramados, toda a
turma em fila, recuando, atrás de Pedro. E depois carregávamos os montes de folhas em carrinhos de mão que jogávamos num terreno baldio ao lado da tenda do vestiário.
Uma noite de maio, durante o recreio, Pedro me surpreendeu a contemplar as folhas do grande plátano à borda do gramado.
- Em que está pensando, meu pequeno?
- Nas folhas que será necessário limpar no próximo outono, senhor.
Ele franziu as sobrancelhas.
- É como os alunos - respondeu Pedro, gravemente. - Os antigos vão embora, vêm novos. Os novos tornam-se antigos e assim por diante... Exatamente como as folhas...
Então me perguntei se ele guardava os vestígios - velhos boletins, velhas redações - de todas aquelas folhas que se renovam de ano em ano.
Certamente diversos "antigos" permaneciam vivos na lenda do colégio: Johnny, por exemplo, cujo nome estava gravado num dos compartimentos do vestiário com cheiro
de madeira
98
molhada, perto do qual esvaziávamos, no outono, os nossos carrinhos de mão... Pedro tinha nos contado tantas vezes a história de Johnny que parecia que eu o tinha
conhecido tão bem quanto a um colega de turma.
Cada vez que penso em Johnny, é no apartamento da avó dele, na avenida Général-Balfourier, que o vejo. Na ausência dela, alguém fazia a limpeza regularmente, posto
que não havia poeira alguma sobre os móveis e o assoalho brilhava tanto que Johnny, intimidado, andava na ponta dos pés.
No fim da tarde, o sol desenhava um grande retângulo de um amarelo de areia no meio do tapete. A luz banhava as prateleiras da estante de livros e as paredes com
uma gaze, como as capas com que cobrem os móveis de apartamentos desativados. Sentado no sofá, Johnny estendia a perna e o sapato do seu pé direito atingia o centro
da mancha sobre o tapete. Ele contemplava, imóvel, o reflexo do sol sobre o couro preto do sapato e logo tinha a impressão de que ele não estava ligado a seu corpo.
Um sapato abandonado por toda a eternidade no meio de um retângulo de luz. A noite caía pouco a pouco. Tinham cortado a eletricidade e à medida que a penumbra invadia
o apartamento, ele sentia uma angústia cada vez mais pesada. Por que tinha ficado em Paris sozinho? Sim, por quê? Sem dúvida, o entorpecimento e a paralisia dos
sonhos maus, no instante de se fugir de um perigo ou de pegar um trem...
E no entanto em Paris, naquele verão, fazia bom tempo e Johnny tinha vinte e dois anos. Seu primeiro nome de verdade era Kurt, mas há muito tempo chamavam-no de
Johnny, devido à sua semelhança com Johnny Weissmuller, um esportista e artista de cinema que ele admirava. Johnny era dotado sobretudo no esqui, cujos refinamentos
tinha aprendido em companhia dos monitores de San-Anton, quando a avó e ele ainda moravam na Áustria. Ele queria tornar-se esquiador profissional.
Chegou a pensar que seguia os passos de Weissmuller no
99
dia em que lhe propuseram um papel de figurante num filme sobre montanhas. Algum tempo depois da filmagem, a avó e ele deixavam a Áustria por causa do Anschluss.
Na França, tinham-no matriculado na escola Valvert. Lá ficou até a declaração da guerra.
Agora, toda noite, por volta de oito e meia, ele deixava o apartamento vazio da avó e pegava o metrô até Passy. De lá, chegava-se à pequena plataforma de uma estação
de águas ou terminal de um funicular. Pela escada, ele alcançava um dos imóveis no nível inferior ao da rua, próximos à praça de Alboni, naquela zona em ladeira
de Passy que lembra Monte-Carlo.
No topo de um desses imóveis morava uma mulher quinze anos mais velha que ele, uma certa Arlette d'Alwyn, que tinha conhecido na varanda de um café da avenida Delessert,
no mês de abril daquele ano.
Ela tinha lhe explicado que era casada com um oficial da aviação do qual não recebia mais notícias desde o início da guerra. Achava que ele estava na Síria ou em
Londres. À beira da mesa-de-cabeceira, bem em evidência, a fotografia emoldurada em couro grená de um belo homem moreno de bigodes finos, vestido num uniforme de
aviador. Mas aquela fotografia parecia fotografia de cinema. E por que somente o nome dela, Arlette d'Alwyn, estava gravado numa placa de couro à porta do apartamento?
Ela lhe confiou uma chave da casa e à noite, quando entrava no salão, ela estava deitada no sofá, nua por baixo do penhoar. Ela escutava um disco. Era uma loura
de olhos verdes e a pele muito macia, e apesar de ter quinze anos mais que ele, parecia tão jovem quanto Johnny, com algo de sonhador e vaporoso. Mas tinha gênio.
Marcava encontro com ele por volta das nove da noite. Não estava livre durante o dia e ele tinha que sair do apartamento pela manhã bem cedo. Bem que gostaria de
saber com que
100
ocupava o tempo, mas ela eludia as perguntas. Uma noite, tendo chegado alguns instantes antes dela e revistado ao acaso a gaveta de uma cômoda, encontrou um recibo
do crédito municipal da rua Pierre-Charron. Assim ficou sabendo que ela tinha penhorado um anel, brincos, um broche e pela primeira vez sentiu um ligeiro perfume
de naufrágio naquele apartamento, um pouco como o da sua avó. Era o odor opiáceo que impregnava os móveis, a cama, o pick-up, as prateleiras vazias e a fotografia
do pretenso aviador, emoldurada em couro grená?
Para ele também, a situação estava difícil. Há dois anos não deixava Paris, desde o mês de maio de quarenta, quando tinha acompanhado a avó a Saint-Nazaire. Ela
tinha tomado o último barco com destino aos Estados Unidos tentando convencê-lo a ir com ela. Os vistos deles estavam em ordem. Ele lhe tinha dito que preferia permanecer
na França e que não corria risco algum. Antes da hora do embarque, sentaram-se os dois num dos bancos da pequena praça, perto do cais.
Em Paris, ele tentou reencontrar antigos colegas da escola Valvert. Sem sucesso. Então rodou os estúdios de cinema solicitando um emprego de figurante, mas era preciso
ter carteira de trabalho e a recusavam aos judeus, mais ainda aos judeus estrangeiros, como ele. Foi ver no Racing-Club se precisavam de um professor de ginástica.
Em vão. Planejava passar o inverno numa estação de esqui, onde talvez conseguisse um posto de monitor. Mas como alcançar a zona livre?
Por acaso leu um pequeno anúncio: procuravam modelos para os chapéus Morreton. Contrataram-no. Posava num estúdio do bulevar Delessert e foi à saída desse local
de trabalho que encontrou Arlette d'Alwyn. Fotografavam-no de frente, de perfil, em três quartos, cada vez com um chapéu Morreton de forma ou cor diferente. Tal
trabalho exige aquilo que o fotógrafo chamava de "bela cara", pois o chapéu acentua os defeitos do rosto. É preciso ter o nariz reto, o queixo bem desenhado e
101
uma bela arcada de sobrancelha - todas qualidades que ele tinha. Aquilo durou um mês e despediram-no.
Então vendeu uns móveis do apartamento em que tinha morado com a avó na avenida Général-Balfourier. Passava por momentos de aborrecimento e inquietação. Não se podia
fazer nada de bom naquela cidade. Estava-se numa emboscada. No fundo, devia ter ido para a América.
Nos primeiros tempos, para manter o moral, decidiu submeter-se a uma disciplina esportiva, como era seu hábito. Toda manhã, ia à piscina Deligny ou então a Joinville,
às pranchas da praia Bérétrot. Nadava crawl e borboleta durante uma hora. Mas logo sentiu-se tão sozinho em meio àquelas mulheres e homens indiferentes que tomavam
banho de sol ou atravessavam o Marne de pedalinho, que desistiu da piscina Deligny e de Joinville.
Ficava prostrado na avenida Général-Balfourier e às oito horas ia se encontrar com Arlette d'Alwyn.
Por que certas noites adiava o momento de sair? Ficaria de bom grado sozinho dentro do apartamento vazio com as janelas fechadas. Antigamente, a avó o censurava
docemente por ser distraído e taciturno, por "não saber viver" nem cuidar de si e, por exemplo, sair sempre sem casaco na chuva ou na neve: "pelado", como ela dizia.
Mas agora era tarde demais para se corrigir. Um dia, não teve forças para deixar a avenida GénéralBalfourier. No dia seguinte à noite, apareceu em casa de Arlette
d'Alwin descuidado, a barba por fazer, e ela lhe disse que tinha ficado preocupada e que um jovem bonito e distinto como ele não tinha o direito de negligenciar-se.
A temperatura estava tão quente e a noite tão clara que eles deixaram as janelas abertas. Colocaram as almofadas de veludo do sofá no meio do pequeno terraço e ali
ficaram até tarde, deitados. No último andar de um edifício vizinho, num terraço como o deles, estavam algumas pessoas cujas risadas escutavam.
102
Johnny continuava a acalentar a idéia dos esportes de inverno. Arlette conhecia muito pouco a montanha. Tinha ido uma vez a Sestrières e guardava de lá uma boa
lembrança. Por que não voltar lá juntos? Johnny, de sua parte, pensava na Suíça.
Uma outra vez, a noite estava suave e ele decidiu não descer na estação Passy como era seu hábito, mas na Trocadéro. Iria a pé pelos jardins e o Quai de Passy até
a casa de Arlette.
Chegava no topo da escadaria do metrô quando viu um cordão de policiais de sentinela na calçada. Pediram-lhe os documentos. Ele não tinha. Colocaram-no no camburão,
um pouco mais longe, onde já se encontrava uma dezena de vultos.
Era uma das batidas policiais que, há alguns meses, precediam regularmente os transportes de munição e víveres para o Leste.
103
X
A cada quinze dias, no estudo da noite, um dos nossos professores anunciava nossas "categorias". Pedro as decidia durante um conselho de professores. A queria dizer
"muito bom trabalho" e B, "trabalho passável". A categoria C era reservada àqueles que tinham cometido faltas de disciplina e acarretava uma proibição de saída.
No sábado pela manhã nos reuníamos atrás do Castelo, lá onde se erguia, no meio de um gramado mal cuidado um cedro do Líbano. Pedro procedia à chamada dos C e, um
depois do outro, aqueles desgraçados vinham se agrupar em fileira, à borda do gramado. Os C passariam o sábado e domingo no colégio fazendo trabalhos de jardinagem
e marchando ao longo das aléias.
Os A e B esperavam a chegada de seus pais; mas a maioria de nós tomava um dos dois ônibus "Chausson" estacionados a partir das nove e meia na esplanada do Castelo.
Quando todo mundo estava instalado, os dois ônibus movimentavam-se e, um atrás do outro, desciam lentamente a aléia. Passado o portão, pegavam a Nacional. Então
os alunos, pequenos e grandes, cantavam em coro os refrões das canções de tropa ou corpo de guarda.
Nós não cantávamos aquelas canções, meu colega de turma,
104
Christian Portier, e eu e talvez por isso tenhamos simpatizado um com o outro. Ficávamos sempre sentados um ao lado do outro no ônibus. Durante alguns meses
não nos separamos nos sábados e domingos de grande saída.
A mãe de Christian vinha nos buscar na Porte de SaintCloud, na parada do ônibus, e a imagem da senhora Portier Claude Portier - nos esperando ao volante do seu Renault
conversível, um cigarro nos lábios, permanece muito nítida em minha memória.
Ela fumava Royales. Num gesto gracioso, tirava da bolsa o maço vermelho. O clique da bolsa que ela fecha e da qual escapa uma lufada de perfume. E o cheiro dos Royales
- cheiro amargo, um pouco enjoativo do tabaco claro francês... Era uma mulher de pequena estatura, de cabelo castanho muito claro e olhos cinza, a quem as maçãs
do rosto, a testa pontuda e o nariz curto davam uma cara de gato. Lembrava a atriz de cinema Yvette Lebon. Aliás, Christian quis me fazer crer, no início de nossa
amizade, que era filho de Yvette Lebon e, quando vi sua mãe pela primeira vez, ele a designou com um gesto cerimonioso e me disse:
- Eu lhe apresento Yvette Lebon.
Tratava-se, com certeza, de uma brincadeira habitual ou de uma maneira, para Christian, de valorizar a mãe. Ela deve ter falado com o filho dessa semelhança desde
muito cedo, numa idade em que Christian não poderia saber quem era Yvette Lebon. Talvez ela própria tenha lhe ensinado a frase: "eu lhe apresento Yvette Lebon",
lição que ele repetia, sem compreender, aos amigos da senhora Portier, enternecidos. Sim, eu bem imaginava Christian, com sua cabeça grande e a voz grave de criança
que amadurece rapidamente, no papel de pajem, atrás da mãe.
Naqueles sábados em que o ônibus nos transportava do colégio de Valvert até Paris, chegávamos em torno de meio-dia à Porte de Saint-Cloud e a senhora Portier nos
levava, a Christian
105
e a mim, para almoçar num restaurante, na praça. Uma galeria larga, ladeada de um corrimão de couro, uma sala no nível inferior. Sentávamo-nos a uma das mesas da
galeria, a senhora Portier e seu filho um ao lado do outro e eu à frente deles.
A senhora Portier comia feito um passarinho: pedia um ovo cozido, uma laranja-da-índia... Christian a olhava com um olhar severo e dizia:
- Claude, você devia pelo menos comer um pouco...
Sim, a chamava pelo primeiro nome e inicialmente me surpreendi de ouvir aquele menino de quinze anos repreender gentilmente a mãe:
- Claude, já é o quinto cigarro... Quer me dar já o maço... Ele lhe tirava o cigarro dos lábios, o apagava, confiscava o
maço de Royales e a senhora Portier, submissa, inclinava a cabeça e sorria.
- Claude, acho que você emagreceu ainda mais... Não é razoável...
A mãe sustentava seu olhar e em seguida, como duas crianças brincando, caíam na gargalhada. Faziam um pouco de teatro na minha frente.
A cada dois sábados, a senhora Portier não vinha nos buscar na Porte de Saint-Cloud e, na véspera, mandava um telegrama para o Valvert nos avisando. Simplesmente
levantava tarde, depois de passar a noite jogando pôquer. Nesses sábados, adquirimos o hábito de acordá-la por volta das três horas da tarde, levando-lhe o seu café
da manhã.
Nunca entrava em cena um "Senhor Portier" e eu me perguntava se Christian tinha pai. Por fim, numa noite de domingo quando estávamos de volta no colégio, ele me
fez confidências em voz baixa, para não despertar nossos colegas de quarto. Apoiávamo-nos sobre a borda da janela e o grande gramado, em baixo, brilhava numa cor
verde pálida, sob a lua. Não, sua mãe jamais tinha se casado e manteve o nome de solteira:
106
Portier. Ele, Christian, era filho de mãe solteira. O pai? Um grego, que Claude tinha conhecido em Paris durante a Ocupação. Ele morava no Brasil agora e Christian
só o tinha visto duas ou três vezes na vida.
Eu gostaria de saber mais sobre aquele grego misterioso, mas não ousava interrogar a senhora Portier.
A tarde, Claude levava Christian às lojas e eu os acompanhava. Um sábado fomos buscar o presente de aniversário da senhora Portier para o filho, pelos seus quinze
anos, um terno de flanela. Estávamos no mês de novembro ou dezembro e a noite já caía. A senhora Portier nos guiava através de um apartamento deteriorado da rua
do Colisée, como se o conhecesse bem. Um cômodo muito vasto, lâmpadas de escrivaninha fixas a mesas compridas, restos de tecidos, uma lareira, um armário com espelho,
um sofá de couro. O alfaiate, um homem de cerca de sessenta anos, o rosto cheio, orlado de suíças, nos recebeu beijando a mão da senhora Portier com uma espécie
de familiaridade.
Christian estava emocionado por provar seu primeiro terno. O alfaiate acendeu um tubo de néon, no alto de um dos espelhos do armário, cujos dois outros batentes
abriram. E meu colega, refletido por todos os ângulos, mantinha-se ereto dentro da "flanela escura" e piscava os olhos, cego por causa da luz branca demais do néon.
- Agrada-lhe, jovem?
O alfaiate o fazia girar empurrando-lhe o ombro e examinava as pregas das calças.
- E a senhora, querida amiga, está contente com o primeiro terno do seu filho?
- Muito contente - disse a senhora Portier. - Desde que não tenha colete...
- Um dia a senhora vai ter que me explicar por que não gosta de colete.
107
- Não tem explicação... Sempre achei ridículos os homens que usavam colete ou barba no pescoço...
Ela tinha me segurado o pulso.
- Se quiser agradar as mulheres do meu tipo, lhe dou um conselho: nunca use colete... nem barba no pescoço...
- Não escute mamãe - disse Christian. - Ela às vezes tem umas idéias esquisitas...
O alfaiate tinha se afastado e seu olhar acariciava o terno de Christian.
- Esse jovem tem quase que exatamente as medidas do pai... Sabe, encontrei uma ficha antiga do seu pai...
A senhora Portier franziu ligeiramente as sobrancelhas.
- Que memória, meu caro Elston!... Christian se aproximou dentro do terno.
- Talvez o senhor pudesse me dar a ficha. Como lembrança do meu pai...
Mas pronunciou a frase sem convicção. Dirigiu-se a outra extremidade do cômodo, onde ficava a cabine de provas, num andar precavido de equilibrista na corda. Talvez
temesse enfiar um alfinete no pé.
A senhora Portier, sentada no sofá, acendia um cigarro.
- Lembro-me de que a senhora veio uma vez muito tarde com o pai dele buscar um terno. E houve um bombardeio naquela noite... Mas nós não descemos para o abrigo...
- Tudo isso remonta à noite dos tempos - disse a senhora Portier, deixando cair no chão a cinza do cigarro.
- Folheei um monte de papéis velhos para saber há quanto tempo nos conhecemos...
A senhora Portier deu de ombros. Christian veio ter conosco.
- De que estão falando? - perguntou.
- Do passado - disse a senhora Portier. - Está contente com o seu terno?
108
- Obrigado, Claude...
Ele se inclinou e beijou a mãe na testa.
- Devia usá-lo hoje - disse a senhora Portier.
- Se você quiser, Claude...
E ali, diante de nós, mudou de roupa de novo, tirando a calça de veludo cotelê e o pulôver e enfiando a "flanela escura".
A senhora Portier segurava o filho pelo braço e o levava para fora do cômodo. Nós andávamos atrás deles, o alfaiate e eu.
- Até à vista, querida amiga... E outra vez obrigado por ter se lembrado de mim para fazer este terno...
Seu olhar se detinha na "flanela escura" que meu camarada vestia e que brilhava com um brilho fúnebre na luz amarela da escada.
A senhora Portier estendeu-lhe a mão.
- Elston, o senhor acha que envelheci?
- Envelheceu? Claro que não, a senhora não envelheceu... Christian tinha baixado a cabeça, incomodado.
- O senhor tem certeza? Agora que ele já tem idade para usar terno, não vou poder mais enganar...
- ... Para começar, ninguém jamais vai pensar que esse galalau é seu filho. A senhora não envelheceu nada, querida amiga...
Ele tinha articulado essas últimas palavras martelando as sílabas. A luz da escada se apagou. Elston tornou a acendê-la. Ele nos acompanhava com o olhar, com o cotovelo
apoiado no corrimão, enquanto descíamos a escada.
Agora que meu camarada possuía aquela "flanela escura", eu sentia um pouco de vergonha do meu velho blazer de lã com botões dourados e da minha calça curta demais,
que me faziam parecer ter ainda menos que quinze anos. A mãe de
109
Christian me deu uma gravata de seda. Eu a usava a cada saída nossa e aquilo me dava um pouco mais de autoconfiança.
Nas noites de verão ela nos levava para jantar à beira do Sena. Rueil? Chatou? Bougival? Tentei, diversas vezes, reencontrar aquele restaurante. Sem sucesso. As
cercanias de Paris mudaram tanto... Em nível abaixo da rua, uma grande plataforma de pranchas, ladeada de cabines, dois trampolins, um escorrega. Uma fileira de
pedalinhos estava ancorada no pontão. Ouvia-se um ruído surdo e regular de cascata, talvez a máquina a água de Marly. Um terraço semeado de cascalho. As lanchas
passavam entre os salgueiros das ribanceiras e eu acompanhava com os olhos a luz verde na proa de uma delas. Quando tínhamos terminado de jantar no terraço, um homem
grande de cabelo grisalho vinha sentar-se à nossa mesa, o dono do restaurante, um tal de Jendron. Ele também usava blazer, mas bem mais elegante que o meu, e pulôver
de marinheiro. Ao lado da senhora Portier, ele parecia dez anos mais velho que ela. Sempre oferecia a Christian e a mim cigarros americanos e chamava a senhora Portier
de Claudie".
Os fragmentos das conversas deles se misturavam ao ar morno daquelas noites, ao barulho dos pedalinhos de encontro ao pontão, ao odor do Sena... Jendron cuidava
de uma oficina antes da guerra, onde também trabalhava um certo Pagnon, cujo nome aparecia freqüentemente nas conversações: um amigo da senhora Portier, posto que
ela o chamava de "Eddy". O que é que pode ter afinal acontecido com esse Eddy Pagnon para eles falarem dele em voz baixa? Tudo aquilo remontava a antes do nascimento
de Christian. Jendron tinha conhecido o Grego, o pai de Christian? Meu camarada não os escutava, deslizava na noite clara até o pontão e pegava um pedalinho. Mas
eu permanecia sentado à mesa em companhia de Jendron e de Claudie. Eu tentava compreender.
Por volta da meia-noite, atravessávamos a grande plataforma
110
sobre as pranchas, da qual a lua recortava as sombras do escorrega e dos trampolins. Nesse momento, poder-se-ia acreditar estar em algum ponto do cabo de Antibes.
íamos buscar Christian, que jogava uma partida de pingue-pongue com o barman.
Jendron nos acompanhava até o automóvel. Batia na nuca de Christian.
- Então, está trabalhando direito?
E meu camarada, apesar da "flanela escura", parecia um menino bem pequenino, ao lado daquele homem pesado.
- O que quer fazer na vida? Christian não respondia, intimidado.
- Posso lhe dar um conselho? Advogado. Ele se virava para mim.
- Você não acha bom, advogado?
Enfiava nos bolsos dos nossos casacos, de cada um, dois maços de cigarros americanos.
- O que acha Claudie?... Um filho advogado...
- Sim... Por que não?
Entrávamos no carro conversível. Christian, embora não tivesse idade para tirar carteira de motorista, punha-se ao volante. A senhora Portier se sentava ao lado
dele, e eu no banco de trás.
-Você não devia deixá-lo dirigir, Claudie...
-Eu sei...
Ela abanava a cabeça, em sinal de impotência. Christian dava a partida cantando pneu. Pegava a auto-estrada do Oeste. A noite estava doce, silenciosa, e a auto-estrada,
deserta. Ele ligava o rádio. Eu me pendurava na porta e o ar me chicoteava o rosto. Experimentava uma sensação de vertigem e felicidade.
Ele entregava o volante a Claudie logo antes do túnel de Saint-Cloud.
111
A senhora Portier morava num prédio na esquina da avenida Paul-Doumer com a rua La Tour, ao qual se tinha acesso por uma entrada envidraçada. Não tenho uma lembrança
muito precisa do apartamento dela, a não ser da sala de estar, meio salão, meio sala de estar, dividida por uma grade de ferro forjado, e do quarto de dormir, revestido
de cetim cinza, onde nós levávamos o café da manhã para ela nas tardes seguintes ao pôquer.
No primeiro sábado à tarde em que me levaram à casa deles, bebemos uma laranjada no salão. Christian parecia impaciente como se tivesse preparado uma surpresa ou
uma farsa e esperasse o momento oportuno para tudo revelar.
A senhora Portier sorria. Eu procurava por uma frase para romper o silêncio.
- O seu apartamento é muito bonito.
- Muito bonito - disse Christian. Depois virou-se para a mãe- Explicamos a ele, Claude?
- Sim, explique.
- Muito bem, meu velho - disse Christian, aproximando seu rosto do meu -, eu não moro no apartamento da minha mãe...
Ela tinha acendido um cigarro. O cheiro insulso dos Royales se misturava a seu perfume.
- No ano passado, Claude e eu decidimos de comum acordo...
Ele fazia uma pausa. A senhora Portier andava até a outra ponta do salão e tirava o telefone do gancho.
- Decidimos não incomodar um ao outro... Por isso Claude alugou um quarto para mim neste prédio, no térreo.
Eu escutava Christian, mas gostaria também de ouvir o que ela dizia ao telefone.
- Não acha que é uma boa solução? - perguntou Christian.
- Assim, cada um tem sua vida...
112
Com quem poderia ela estar falando numa voz assim tão baixa, quase um cochicho? Ela desligou.
- Claude, vamos deixá-la - disse Christian. - Vou mostrar a ele o meu apartamento. Você quer nos ver hoje à noite?
-Ainda não sei se estarei livre - disse a senhora Portier. Telefone por volta das seis horas.
- Claude mandou instalar o telefone para mim no meu quarto - disse Christian, a expressão satisfeita.
Na porta estava afixado um cartão de visita com o nome "Christian Portier". O quarto, do tamanho de uma cabine de barco, dava para a avenida Paul-Doumer por uma
janela do tipo guilhotina. A cama de Christian estava coberta por uma colcha escocesa. Uma poltrona no mesmo tecido contra a parede bege. Numa prateleira comprida,
maquetes de avião e um globo terrestre. Uma fotografia de Yvette Lebon, na outra parede. Ou era a senhora Portier? Christian surpreendeu o meu olhar.
- Está se perguntando qual das duas é, hein? Claude ou Yvette?
Estava de braços cruzados, como um instrutor que acaba de interrogar um aluno.
- É Claude, meu velho.
Com orgulho, me mostrava o rádio, cor de marfim, incorporado à mesa-de-cabeceira. Depois, o banheiro, estreito, todo de mosaico azul-marinho, com uma banheira de
pedra.
- Você não se incomoda de ouvir um programa? - perguntou ele.
Virou o botão do rádio. Um locutor anunciou: "para aqueles que amam o jazz". Um trompete tocava uma melodia lenta e serena como a curva de uma ave marinha planando
sobre uma praia deserta ao crepúsculo.
- Está ouvindo? É Sonny Berman...
Estávamos sentados um ao lado do outro na beira da cama. Christian tinha tirado do armário uma garrafa de uísque, com o
113
qual encheu pela metade o copo que usava para escovar os dentes. Bebíamos um de cada vez escutando a música, e as sombras dos passantes, projetadas contra a parede
por um poste da avenida, nos roçavam.
Nesses sábados, à noite, muitas vezes ficávamos sozinhos, os dois, e jantávamos como pessoas adultas num restaurante vazio da praça Alboni graças aos cinqüenta francos
de mesada que a senhora Portier dava ao filho.
Anoto num caderno - ele tinha me dito - e reembolsarei tudo a Claude quando tiver vinte e um anos.
E depois, de metrô, íamos à sessão das dez horas de um cinema de Auteuil. Christian tinha me explicado que o diretor daquele cinema era amigo de sua mãe. Meu colega
se apresentava à caixa e ela logo nos dava dois ingressos gratuitos.
Voltávamos a pé pela rua Chardon-Lagache e a rua La Fontaine. Eu vestia meu duffle-coat e Christian um casacão de pele de camelo, sobre o terno de flanela escura.
Aquela roupa o envelhecia dez anos, mas aparentemente ainda não era suficiente para ele: tinha comprado armações de óculos de tartaruga com que se paramentava na
ocasião de nossas saídas com a mãe dele. Se pudesse, deixaria crescer o bigode e tingiria o cabelo de branco.
No saguão verde-creme do edifício, me propôs, em voz baixa:
- E se fôssemos dar um bom-dia rápido a Claude?...
Na saída do elevador, andou na ponta dos pés até o apartamento e permanecemos de pé, imóveis, diante da porta. A luz se apagara sem que nem um nem outro achasse
conveniente tornar acendê-la. Explosões de voz ou de riso, ensurdecidas. Quantos convidados eram? Algumas vezes, eu reconhecia a voz
114
da senhora Portier, mas diferente do que era à luz do dia, muito rouca, e sua risada também, mais estridente e mais sacudida que a de hábito.
Ao fim de um instante, ele me pegava pelo braço e me guiava
no escuro.
De novo nos víamos no meio do saguão cujas paredes brilhavam sob a luz muito viva dos apliques.
-Acompanho você ao metrô...
Era bem perto, praça do Trocadéro. Muitas vezes, para ficar um pouco mais tempo juntos, dávamos a volta na praça e seguíamos a avenida Kléber até a estação Boissière.
- Claude ainda está na farra - dizia Christian. - Ou talvez jogando uma partida de pôquer...
Ele afetava um tom divertido.
- Vai estar com uma cara amanhã de manhã...
No momento de nos despedirmos, eu notava seu rosto crispado, seu olhar triste. A perspectiva de voltar para casa sozinho na avenida Paul-Doumer, para seu quarto
"independente" não devia entusiasmá-lo muito. E Claude "na farra"... Sem dúvida me teria confidenciado de bom grado alguma coisa naquele momento, mas resistia. Antes
que eu descesse a escada, agitava o braço para mim e apoiava os dedos contra a testa numa vaga saudação militar.
Bem mais tarde compreendi que, ao contrário daqueles homens maduros que se esforçam para encolher a barriga e andar um passo lépido para rejuvenescerem, não havia,
por trás das armações de óculos de tartaruga, a flanela escura e o casacão de pele de camelo, senão uma criança inquieta.
Esse tipo de homens de certa idade, mas ainda esbeltos ou pelo menos querendo parecê-lo, vigiando o andar, vi alguns
115
deles com a senhora Portier. Ela veio em diversas ocasiões nos visitar no colégio na companhia de um deles, nunca o mesmo. Sempre escolhia o momento em que estaríamos
no grande gramado para o recreio que precedia o estudo da noite.
Ela nos apresentou um "senhor Weiler", de cabelo grisalho e pálpebras pesadas. Ele fez a Christian algumas perguntas amáveis em relação a seus estudos. Tinha perfume
de chipre e amassava um par de luvas com os dedos compridos. Christian me contou, depois da visita, que aquele Weiler mexia com diamantes e era muito rico e sua
mãe o conhecia há pouco tempo. Um outro, louro de bigode, aspecto esportivo e marquês de qualquer coisa, falava, por sua vez, com uma voz tonitruante, empregando
palavras da gíria. Se a senhora Portier levava Weiler no carro dela, toda vez que vinha ao colégio com o "marquês", era no Buick dele.
A silhueta de um terceiro homem, de rosto matreiro e vestindo casacão preto... Aquele, Christian e eu tínhamos apelidado de "doninha". A qual dos três - ou a um
quarto - Christian, uma tarde em que nos encontrávamos sozinhos no apartamento da mãe dele, atendeu ao telefone com a perfeita correção de um secretário: a senhorita
Portier está ausente, mas transmitirei a mensagem... A senhorita Portier com certeza não estará de volta antes das sete horas da noite... Muito bem... Direi à senhorita...
Ainda hoje me pergunto o motivo daquelas visitas ao Valvert. Talvez ela quisesse lhes inspirar confiança, mostrando a todos o filho grande, aluno de um colégio famoso
de Seine-et-Oise... E o quarto "independente" de Christian? Era necessário, suponho, quando a senhorita Portier recebia os amigos no sábado à noite.
Um sábado à noite, justamente, toquei à sua porta. Christian tinha ficado sem saída por causa de um zero em matemática e
116
me confiou uma carta para a mãe e, numa malinha de folha-deflandres, roupa para lavar.
Ela abriu a porta. Estava descalça e envolvida num penhoar de esponja branco. Parecia perturbada por me ver.
- Oi... Que surpresa...
Permanecia lá, no umbral da porta, como se quisesse me barrar a passagem.
- Quem é, Claude? - perguntou uma voz de homem do salão.
- Nada, um amigo do meu filho... E após um instante de hesitação - Entre...
Ele estava sentado num dos pufes de couro, o busto muito dobrado, na posição de um jóquei diante do obstáculo. Levantou a cabeça e me sorriu. Não era Weiler, nem
o "marquês", nem a "doninha", mas um moreno de uns cinqüenta anos, de pele um tanto vermelha e olhos claros.
A senhora Portier abria a carta de Christian. Eu segurava a maleta de lata na mão.
- Sente-se - disse ele.
Ela lia a carta. Deu uma breve risada.
- Meu filho me recomenda não ir dormir muito tarde, fumar menos e não jogar pôquer...
- Ele tem razão, o seu filho. Ele se virou para mim.
- Você quer uma xícara de chá?
Apontou-me, sobre a mesa baixa, uma bandeja com duas xícaras e um bule de chá.
- Não, obrigado.
- Você é amigo do filho dela?
- Sou.
- E o que é que ele está fazendo neste momento?
- Ele ficou no colégio... ficou sem saída...
117
A senhora Portier tinha enfiado a carta num dos bolsos do penhoar. Veio sentar-se à beira do sofá, e cruzou as pernas. De um lado, o penhoar escorregou. Viam-se
as coxas dela. Aquela pele dura contra a esponja branca do penhoar e o veludo vermelho do sofá cativou o meu olhar.
- Coitado do Christian... - disse ela. - Deve estar chateado lá sozinho... Também deixavam você sem saída quando era pequeno, Ludo?
Ludo deu de ombros.
- Nunca fui à escola... Minha mãe arrumou um sujeito para nos ensinar a ler, ao meu irmão e a mim... E também um professor de ginástica...
Eu tinha dificuldade de tirar os olhos das coxas longas e compactas da senhora Portier.
- E se fôssemos fazer uma visita a seu filho? - disse ele. Levantaria o moral dele...
Ela já o teria levado ao colégio, como Weiler, o "marquês" ou a "doninha"?
-Já está muito tarde - disse a senhora Portier. - E está frio...
Eu pensava em Christian. Depois de toda uma tarde de "jardinagem", viria a hora do jantar. Comeria no fundo do refeitório deserto, com uns vinte outros colegas que
ficaram sem saída como ele. Não teriam permissão para falar entre si. E depois, seria a hora da subida em silêncio, em fila, até o dormitório.
Ele se levantou e me estendeu uma cigarreira.
- Você fuma?
- Não, obrigado.
- Diga a Christian que vou visitá-lo na terça-feira - disse a senhora Portier.
- Eu vou com você, Claude...
Decididamente, era um ritual. Christian, com sua meticulosidade natural teria feito uma lista de todos os homens que a
118
minha mãe tinha levado ao Valvert, para visitá-lo, desde que estava interno naquele colégio?
Ela surpreendeu o meu olhar e puxou bruscamente o pano do penhoar para cima dos joelhos.
- O senhor vai se entediar, sem o Christian, este fim de semana - disse ela.
-Sim.
- Pode ficar conosco, se quiser - disse Ludo.
Ele apoiava o cotovelo sobre o mármore da lareira. Fiquei surpreso com a graça da sua postura. Aquilo tinha a ver com o corte elegante do terno, mas também com uma
casualidade natural em cruzar os braços e as pernas e manter o corpo ligeiramente enviesado.
- Não sei, eu... podíamos jogar um... bridge, os quatro, com meu irmão...
- Não diga bobagens, Ludo... Este jovem não joga bridge...
- Que pena...
Ela me acompanhou à porta e no momento da despedida, seu rosto estava tão perto do meu e seu perfume era tão emocionante que tive vontade de beijá-la. Por que eu
não tinha o direito de beijá-la?
- Esse meu amigo é muito gentil, o senhor sabe... Christian gosta muito dele... Ludo vai lhe dar aulas de pilotagem... Se você gostar, para você também... Foi um
ás da aviação durante a guerra...
Ela sorria para mim. Ludo tinha posto um disco na vitrola do salão.
- Até logo... E não esqueça de dizer a Christian que vou vêlo terça-feira...
Ao descer a escada me dei conta de que continuava levando a maleta que continha a roupa branca suja do meu colega.
Por distração ou para ter um pretexto e voltar ao apartamento da senhora Portier?
119
A noite tinha caído. Entrei, com a maleta na mão, num selfservice da avenida, na frente do edifício. Eu era o único cliente. Escolhi uma torta e um iogurte no balcão
e me sentei a uma das mesas circulares, perto da vidraça.
Ao final de uma meia hora, vi Ludo sair do edifício. Tinha chegado a minha vez de voltar a subir até o apartamento, com o pretexto de entregar a maleta à senhora
Portier. Daqui a pouco... mas quando me vi outra vez na calçada hesitei e depois, como um autômato, pus-me a seguir Ludo.
Ele andava uns vinte metros à minha frente. Abriu a porta de um carro grande, marrom, estacionado na rua Scheffer e tirou lá de dentro um casaco, que não vestiu,
mas só pôs sobre os ombros. Entrou pela rua Scheffer.
Na passagem, notei, contra o vidro do carro, uma placa que dizia G.I.G. - Grande Inválido de Guerra - em precário equilíbrio entre dois pacotes de lenços de papel
e uma pilha de mapas Michelin. Aquela placa, ali abandonada, me lembrou a graça casual com a qual ele apoiava o cotovelo na lareira.
Agora, ele entrava pelo bulevar Delessert, envolvido no sobretudo azul-marinho como numa capa, e lançava um olhar no sentido daquelas misteriosas escadarias que,
de cada lado do bulevar, ladeiam o flanco dos prédios. Mancava ligeiramente. Grande inválido de guerra. Ás da aviação, como tinha me dito a senhora Portier. Eu não
era nada ao lado daquele homem. Por que o seguia? Eu gostaria de falar com ele sobre Claude, fazer perguntas, pois tínhamos uma coisa em comum: um e outro conhecíamos
aquele perfume apimentado que se misturava ao odor dos Royales e aquelas coxas compactas sob a esponja do penhoar.
Ele parou no fim da avenida, lá onde começam os jardins do Trocadéro. Eu também. Coloquei a maleta no chão, sobre o
120
cascalho. Não, jamais teria coragem de abordá-lo. Ele fumava. Num peteleco, lançou a bagana no ar e levantou o queixo, como se para acompanhar o trajeto de uma
estrela cadente.
Todos dois, naquela noite de inverno, tínhamos chegado ao flanco de uma colina, de onde víamos as luzes de Paris, o Sena, os cavalos da ponte de Iéna. Um bateau-mouche
passou e o reflexo de seus projetores corria sobre as fachadas dos Quais e através dos jardins.
Depois da minha saída do colégio de Valvert, não mais revi Christian nem a senhora Portier.
Vinte anos mais tarde, em Nice, eu procurava um hotel ou uma pensão de família barata para um velho amigo do meu pai que queria passar o inverno naquela cidade.
Estávamos em novembro e era noite. No fim da rua Shakespeare, após os prédios cor de creme que levam cada um sobre o frontão do pórtico um nome de flor, um letreiro
estava afixado a uma grade: "Vila Sainte-Anne. Estúdios mobiliados. Cozinha com frigo. Banheiro. Jardim. Sol total. Aquecimento a óleo".
Uma aléia coberta de cascalho levava a uma outra grade entreaberta. O jardim estava fracamente iluminado pela luz amarela do alpendre que deixava na meia penumbra
um pequeno gramado, gaiolas ou casas de pássaros de onde me parecia ouvir batidas de asas.
Galguei os degraus da escada externa. Por trás da porta da sacada, um salão com as paredes cobertas de papel pintado. Móveis rústicos. Uma mesa guarnecida com uma
toalha de renda. E a luz era tão amarela, tão desbotada, que dava a impressão de uma queda de corrente. Uma mulher estava sentada à mesa, de braços cruzados, na
frente da televisão.
Eu bati no vidro, mas ela não me ouviu. Empurrei a porta da sacada. Ela se virou.
121
A senhora Portier. Tinha se levantado e dirigia-se a mim. Tinha desligado a televisão, na passagem.
- Boa noite, senhor...
- Boa noite... A senhora ainda tem um estúdio para alugar? -Com certeza...
Eu a tinha reconhecido imediatamente. O rosto era quase o mesmo, mas afinado, o cabelo bem mais curto. A boca se crispava ligeiramente numa expressão amarga. Os
olhos continuavam com aquele brilho cinza ou azul muito diluído que me emocionava.
- É para uma estada longa?
- Sim. Em torno de dois meses.
- Então vou lhe mostrar o estúdio com banheiro e cozinha...
Contornamos a casa e ela me precedeu numa escada estreita cujos degraus estavam cobertos de linóleo. Um corredor iluminado por uma lâmpada nua, na parede. Uma porta.
- Entre.
Ela acendeu a luz. O lustre de madeira lembrava um leme de barco sobre o qual teriam afixado lâmpadas protegidas por abajures em pergaminho. O mesmo linóleo da escada.
Papel pintado dominando o grená. Uma cama com barras de cobre.
- Tem aqui o canto da cozinha.
Num cubículo, tinham colocado um modelo antigo de fogão e uma pequena geladeira que roncava.
- Se o senhor quiser ver o banheiro...
Andamos de novo ao longo do corredor. Ela abriu uma porta. Uma banheira de pé, em esmalte branco.
- O W.C. fica em frente.
- Posso ver o quarto outra vez? - disse eu.
- Claro.
As cortinas estavam fechadas. Também tinham motivos grená
- ramagens - como o papel. Pairava um cheiro de fechado.
- A janela dá para a rua? - perguntei.
- Não. Para o jardim.
122
E num gesto casual, ela puxou as cortinas.
- Posso saber o preço?
- Mil e duzentos francos por mês.
De repente, parecia bem mais velha, talvez porque não estava maquiada.
Aproximei-me dela.
- A senhora não é a senhora Portier?
Seus olhos cresceram, como se eu a tivesse ameaçado com um revólver.
- Por quê? O senhor me conhece?
- Conheço. Há muito tempo... Eu era amigo de Christian... -Ah... um amigo do Christian... O senhor era amigo do
Christian...
Ela repetia a frase com uma espécie de alívio.
- Estudamos juntos no colégio Valvert... quando a senhora morava na avenida Paul-Doumer...
-Avenida Paul-Doumer... Ela fixava o olhar sobre mim.
- Eu não reconheço o senhor... Como é que se chama?
- Patrick.
- Patrick... Mas sim... Mas sim, me lembro...
Ela sorria para mim. Sentou-se na beira da cama.
- O senhor sabe, eu não me chamo mais senhora Portier... A vida é complicada...
E cheia de desvios. Eu jamais poderia imaginar que uma noite em Nice eu me encontraria num quarto de hotel na companhia da senhora Portier.
-Agora sou casada... com um velho que tem vinte anos mais que eu...
Alisava as franjas da colcha.
- Tive altos e baixos...
- E Christian? - perguntei a ela.
- Mora no Canadá. Não tenho notícia dele há muito tempo... acho que não quer mais me ver...
123
- Por quê?
Ela sacudiu os ombros.
- Deve me censurar por certas coisas... No fundo, eu jamais deveria ter tido um filho... O velho com quem estou casada sequer sabe que eu tenho um filho...
- E por que a senhora se casou?
Era indiscreto lhe fazer uma tal pergunta, mas ali naquele quarto ela me diria tudo.
- Imagine o senhor que eu não tinha mais um centavo... Seu olhar azul-cinza iluminou-se com um sorriso.
- Meu marido é um velho chato que ameaça viver até os cem anos... Eu sirvo de governanta para ele... O senhor pode imaginar? O senhor me imagina nesse papel?
Eu não sabia o que responder.
- Então o senhor quer alugar um quarto?
- Não é para mim, é para um amigo.
- O que é que o senhor faz na vida? Ela me pegou de jeito.
- Oh... nada... escrevo romances policiais...
- Não me admiro de você escrever... você era mesmo um sonhador, não?...
Ela se levantou.
- Seria preciso o senhor escrever um romance sobre mim... Minha vida é um romance que acaba mal...
Ela deu uma risada franca, aquela mesma risada de que eu tanto gostava na época da avenida Paul-Doumer.
- O senhor viu o quarto. É feio, hein? Tudo é pesado nesta casa... Meu marido não tem gosto algum... E além do mais, tem um gênio do cão... Como todos os velhos...
Levava-me para fora do quarto e me segurava pelo braço para descer a escada.
- O senhor quer ver meu refúgio?... É o único lugar onde ele não vem me aborrecer...
Abeira do jardim erguia-se um minúsculo pavilhão quadrado
124
em que poderia morar um guarda ou um caseiro. Ela abriu a porta.
- O velho não tem a chave... Às vezes me fecho aqui... Um lustre. Uma cama estilo Império. Móveis empilhados
uns sobre os outros. Espelhos. Lâmpadas. Maletas. Uma secretária também Império. E fotografias pregadas às paredes.
- Eis o que pude salvar do naufrágio... Tudo isto estava na avenida Paul-Doumer...
Numa das fotografias, ela parecia muito jovem, loura, com uma franja, os olhos muito claros, vestindo uma combinação de cetim com motivos de renda transparente.
Apoiava a cabeça num braço de sofá e a perna direita, esticada, no outro. A perna esquerda estava dobrada. Usava escarpins pretos de saltos altos.
- ... eu tinha dezoito anos... O diretor da Sociedade de Banhos de Mar do Mônaco estava loucamente apaixonado por mim... Tinha me apresentado ao príncipe Pierre...
Uma fotografia menor: ela, a cavalo, em companhia de outro cavaleiro.
- Essa foi com Pagnon, um amigo de Asnières. Ele trabalhava para os alemães... Mandou nos soltarem quando fomos presos, o pai de Christian e eu...
Ela apanhava o travesseiro do chão e puxava a colcha de veludo por sobre os lençóis amarrotados.
- Os alemães nos deram uma surra... Eu me pergunto o que é que o pai de Christian traficava... Quase me quebraram todos os dentes...
Ela erguia um quadro que estava colocado de través sobre a mesa-de-cabeceira.
- O senhor quer me ajudar? Vamos colocar isto atrás... Coloquei o quadro contra a parede.
- Isto aqui está um verdadeiro quarto de despejo... Tenho montes de recordações... Se lhe interessar, para seus romances policiais...
125
- Interessa muito - disse.
- Então o senhor terá que vir uma tarde dar uma remexida aqui...
Atravessamos o jardim. Ela tinha enfiado um velho blusão de plástico vermelho, muito curto, que lhe vinha até a cintura, e cuja cor cortava o preto da sua calça.
Apontou-me as gaiolas na penumbra.
- Crio uns vinte pássaros... me ocupa...
- Não dá trabalho demais?
- Oh, não... já fiz coisas mais trabalhosas...
De novo me segurava o braço e andávamos ao longo da aléia de cascalho. Andava no mesmo passo macio e escorregadio do tempo do Valvert...
- Cheguei a ser professora de equitação na minha juventude...
- Equitação?
- Se o seu amigo alugar o estúdio, poderemos nos ver com freqüência...
- Eu gostaria muito...
Tínhamos chegado à cerca. Ela aproximou o rosto de mim.
- O senhor acha que envelheci muito? -Não.
E era verdade que na luz velada da rua aquele rosto voltava a ser liso. Em todo caso, o andar macio e o riso, esses não tinham mudado.
- Vou fazer a sopa do meu marido... Não fala comigo há uma semana... me botou de quarentena... De todo modo, não podemos falar um com o outro. Ele é surdo... Vai
deitar às nove horas...
- E se eu a convidasse para jantar uma noite? Ela abanou a cabeça gravemente.
- Sim, mas nesse caso, eu teria que lhe dar um número de telefone e um endereço onde o senhor me deixaria uma
126
mensagem... O velho está sempre atrás de mim, o senhor compreende... E abre a minha correspondência...
Ela procurou no bolso do casaco e me estendeu um cartão de visita.
- É meu cabeleireiro... Christian sempre me escrevia para esse endereço...
- É pena não podermos nos reencontrar os três, digo. Ela apoiou a mão no meu ombro.
- O senhor tem cara de grande sonhador...
Na calçada, me virei. Ela estava de pé atrás da grade, a testa contra as barras. Sorria.
- Não esqueça... Rua Pastorelli... Cabeleireiros Conde...
127
XI
Eram nove horas da noite e eu passava diante de uma das salas de espera da estação do Norte.
Um rosto. A testa estava apoiada no vidro daquele aquário e o olhar, ansioso e cansado. Era você, Charell.
Eu bati no vidro. Ele também me reconheceu. Depois de vinte anos, não tínhamos mudado nada; Charell, pelo menos, não tinha. Tinha se levantado e me examinava piscando
os olhos, como se o tivesse tirado brutalmente de um sonho. Sua aparência de louro distinto contrastava com a das raras pessoas que ali tinham desembocado: um bêbado
adormecido, a cabeça sobre o ombro de uma mulher velha excessivamente maquiada e de impermeável, um árabe com maçãs do rosto macilentas, cujo terno príncipe-de-gales
brilhando de novo se lhe estreitava nos calcanhares, mostrando sapatos de basquete sem os laços. Pairava naquela sala de espera de lambris marrons e iluminação velada
um odor de urina.
- É engraçado encontrar você aqui, meu velho - disse Charell.
Ele fazia esforços visíveis para parecer relaxado, como alguém que acaba de se surpreender num lugar em atividades duvidosas e que quer desfazer as suspeitas.
- Não somos obrigados a ficar aqui...
128
Segurava-me pelo braço e me dirigia com firmeza, olhando da esquerda para a direita, com aquele mesmo olhar inquieto de há pouco, atrás do vidro. O que temia? Um
encontro, do qual eu seria testemunha?
Lá fora, no lado esquerdo da estação, caímos num grande beco sem saída. Ouviam-se cochichos e explosões de voz de grupos de sombras, imóveis na escuridão. Quase
pisamos em corpos deitados na calçada, em meio a maletas e mochilas. Contra as grades abertas do beco, estavam algumas meninas muito novas de blusão de couro, uma
das quais usava na testa uma faixa preta que lhe cobria um olho. E sempre aquele cheiro de urina.
Atravessamos a rua Dunquerque. O tráfego dos automóveis ainda estava bastante denso diante da estação àquela hora e todos os cafés, iluminados.
- Você mora no bairro? - perguntei a Charell.
- Não exatamente... Vou lhe explicar...
Na esquina da rua de Compiègne, ele colou a testa no vidro de um grande café deserto e menos iluminado que os outros. Parecia estar procurando alguém. Mas não tinha
ninguém na sala banhada de uma luz verde pálida. De novo me pegou pelo braço e nos dirigimos ao bulevar Magenta.
- Tenho uma garçonnière aqui... Para mim e minha mulher... Vou lhe explicar...
Estávamos em baixo de um edifício bege sujo em forma de proa, muito alto, desses que se construíam bem antes da guerra. Uma porta de entrada em vidro opaco. À esquerda,
um cinema. Passavam ali vários filmes, um dos quais com o título Bunda quente.
Uma dezena de homens jorrou do cinema na hora em que íamos entrar no edifício: ternos sombrios e compactos, gravatas pretas, cabelos à escova. Eles me empurraram,
um deles chegou a me pisar o pé, com um sapato pesado, com ferro na sola, e continuaram seu caminho em fileiras, diretamente em
129
frente, imperturbáveis, em busca, sem dúvida, de um restaurante onde comer um chucrute ou um waterzoi de peixe qualquer antes de tomar o trem para Roubaix.
- Bairro esquisito - digo a Charell, enquanto o elevador subia lentamente na escuridão e projetava na parede de cada andar a sombra das suas grades.
Manchada de ferrugem, uma blindagem externa cobria a porta do apartamento. Charell sumiu à minha frente. Atravessamos um vestíbulo revestido de veludo vermelho onde
os apliques com pingentes de cristal lançavam uma luz muito viva. Um tapete, do mesmo vermelho que o veludo.
- Por aqui, meu velho...
Era um cômodo de paredes nuas, onde o assoalho brilhava sob o lustre. Nenhum móvel, com exceção de um grande sofá de couro onde dormia uma moça negra de cerca de
uns vinte anos, envolvida numa manta escocesa. Uma das duas janelas estava aberta e dava para um espaço estreito entre os prédios, desses que chamam de poço.
- Sente-se meu velho... não tenha medo... quando ela dorme, dorme de verdade...
Ele fechou a janela. Sentamo-nos na ponta do sofá. Ela dormia, a cabeça ligeiramente inclinada, o pescoço esticado. No assoalho, um cachorro de imponente estatura,
com longos pêlos pretos encaracolados, também dormia.
- Ela é bonita, não acha? - disse Charell, mostrando a menina. - Encontrei-a uma noite na rua de Maubeuge...
Sim. Ela tinha traços suaves e infantis e o pescoço delicado.
- Uma das razões por que alugo esta pousada - disse Charell pensativamente - é que prefiro trazer as meninas para cá em vez de para o nosso apartamento em Neuilly...
Conheci uma que levou todo o guarda-roupa da minha mulher...
Eu esperava que ele me desse algum esclarecimento. A menina tinha se virado e pronunciava palavras indistintas durante o sono. Eu admirava sua nuca.
130
- Também é bom eu ter este apartamento aqui porque viajo muito para o Norte a negócios... vou lhe explicar...
Mas nunca me explicava nada. A risada de uma mulher rompeu o silêncio que tinha se instalado entre nós. Um riso agudo. Vinha do quarto vizinho. Depois, uma voz de
homem. E a risada se transformava pouco a pouco em gargalhada. Alguém batia na porta. O riso parou. Ruídos de luta e perseguição. Charell não se movia e tinha acendido
um cigarro. Ouvi a mulher rir de novo. Ao final de algum tempo, gemidos cada vez mais longos.
- Quando eu falava do Norte - disse Charell, num tom monocórdio -, quis dizer a Bélgica... tenho lá uma pessoa que cuida dos meus negócios... Você sabe que meu pai
era belga... eu também, aliás...
Ele queria, sem dúvida, distrair minha atenção. O cachorro soltou uns latidos que eram como um eco do gemido prolongado atrás da porta.
- Mas... você não mora aqui de verdade? - perguntei.
- Não. Nós moramos em Neuilly, minha mulher e eu. Rua da Ferme. Bem perto de onde meus pais moravam... Você se lembra, da rua da Ferme?
- Lembro.
- Eles desapareceram, todos os picadeiros da rua... De repente, ele tinha o aspecto acabrunhado.
- Muitas coisas mudaram, meu velho, do tempo do Valvert para cá...
- Faz tempo que você está casado?
- Dez anos. Você vai ver, Suzanne é uma mulher encantadora.
Eu não ousava perguntar se era ela quem soltava aqueles gemidos e estertores por trás da porta. Eles se tinham acentuado, depois diminuído. O silêncio. Ouvia-se
apenas a respiração regular da menina negra, ao nosso lado, e os latidos cada vez mais espaçados do cão.
A porta se abriu e um homem apareceu, de casaco xadrez
131
claro, um enorme anel na mão direita. Um louro, grande, corpulento, de bigode.
- Apresento-lhe François Duveltz... um amigo... - disse Charell.
- Eu não sabia que o senhor estava aí - disse o outro.
Ele acendia uma cigarrilha. Eu estava perturbado e fixava com os olhos o seu anel e os dedos inchados. Ele se dirigiu à janela que dava para o poço e se plantou
diante do vidro negro e opaco em que se refletia o lustre. Ali, a uma ligeira distância, o vidro lhe servia de espelho. Arrumou lentamente o nó da gravata.
- O que vai fazer, Alain? Vai ficar aqui?
-Vou. Fico aqui - disse Charell, com uma voz seca.
- Eu vou dar uma volta pelo bairro para ver se não tem caça...
De que caça se tratava? Que estranha caça se poderia achar na estação do Norte?
- Quer que eu lhe traga caça, Alain?
Ele sorria, no umbral da porta do vestíbulo.
- Não, obrigado. Esta noite não - disse Charell.
O outro, sempre sorrindo, nos fez um gesto com a mão esquerda, a do anel, e desapareceu. A porta de entrada bateu.
- É uma estranha figura- disse Charell. -Vou lhe explicar... Quer café?
- Não, obrigado.
- Sim, sim. Um pouco de café. Faz bem a todo mundo... Espere por mim... Antes vou botar a água do banho para a minha mulher...
Ele passou para o quarto ao lado deixando a porta entreaberta. A menina negra virou-se sobre o lado esquerdo, a cabeça ficou pendurada, o rosto na borda do sofá.
Em seguida ouvi barulho de água correndo.
132
Levantei-me e fui até a janela. Formas humanas titubeavam à saída de um restaurante. Militares de licença? Outros apressados, malas na mão, só faltavam cair pelo
chão, jogados pelos carros e táxis que chegavam em fila diante da estação. De que tipo de caça podia estar falando aquele sujeito?
Lá em baixo, no beco com cheiro de urina onde Charell e eu desembocamos ao sair da estação, as meninas continuavam de encontro às grades, de sentinela. A mancha
clara de um casaco, talvez o daquele Duveltz.
- Você pode desligar a água, Alain? - disse uma mulher no quarto vizinho.
A mulher de Charell? Ele não tinha escutado e a água do banho continuava a correr. Eu tinha vontade de sair daquele lugar, fugir, mas não seria delicado para com
Alain.
Sentei-me de novo no sofá. A menina negra se agitava em seu sono e apoiou o pé descalço contra o meu joelho. Uma pulseira de corrente grossa lhe envolvia o tornozelo.
O cachorro, por sua vez, tinha despertado e, num andar pesado, vinha em minha direção.
- Viu como a rua da Ferme mudou? - disse Charell. - A casa dos meus pais não existe mais... Nem os picadeiros... Você não está com frio, querida? Se quiser podemos
voltar para o salão...
Ele tirou o casaco e o pousou com delicadeza nos ombros da mulher. Nós acabávamos de jantar no terraço do apartamento deles, em Neuilly, na rua da Ferme.
Suzanne Charell era uma morena de olhos azuis. A doçura do seu rosto, as maçãs, seu aspecto delicado, seu ar de franqueza me encantavam. Alain tinha me dito que
ela montava a cavalo freqüentemente e aquilo tinha me emocionado: sempre tive um fraco por mulheres que praticam esse esporte.
133
I
E era justamente nos cavalos que eu pensava enquanto Suzanne nos servia o café e a noite caía, uma noite quente, para aquele início de outubro. Desde o tempo do
Valvert, nos sábados em que havia saída, Alain me convidava para ir à casa dele. Eu descia na estação de metrô Pont de Neuilly e pela rua Longchamp, ganhava a rua
da Ferme. Os pais de Charell moravam num palacete, espécie de Trianon, que um gramado cortado rente cercava, como um cofre de veludo. Alain me levava em frente para
tomar uma aula de equitação. Éramos amigos do filho do instrutor do picadeiro e os ajudávamos, a ele e ao pai, antes da hora do jantar, a inspecionar os cavalos
uma última vez - o que eles chamavam de "fazer a estrebaria da noite" ... No domingo pela manhã, muito cedo, seguíamos a rua até o Sena. As ribanceiras e a ilha
de Puteaux estavam envolvidas numa bruma azul. Ao longo do Quai, cancelas brancas e escadarias em caracol sob o verde davam acesso às lanchas, às escunas e aos pequenos
cargueiros ali ancorados para sempre e que serviam de moradia.
- O senhor conhece Alain há muito tempo? - perguntou Suzanne.
-Vai fazer quase vinte anos, hein, Patrick...
Nós tínhamos nos conhecido na enfermaria do colégio, onde estávamos em função de uma gripe forte. As janelas do nosso quarto davam para o Bièvre, cujo murmúrio de
cascata ouvíamos à noite. A enfermeira se chamava Meg. Ela nos visitava à tarde. Nós dois estávamos apaixonados por ela e queríamos ficar o máximo de tempo possível
naquele quarto. Meg tinha estado na guerra da Indochina e lá tinha sido uma das raras mulheres, com Geneviève Vaudoyer a saltar de
pára-quedas.
- Você ainda saberia operar o projetor de cinema? - perguntou Charell.
Eu tinha conseguido, depois da expulsão de Daniel Desoto,
134
que o senhor Jeanschmidt nomeasse Alain operador de projeção junto comigo. Vinte anos, já... E no entanto, de repente, alguma coisa daquela época ainda pairava
no ar. A rua Longchamp e a rua da Ferme estavam desertas e silenciosas. Na esquina, um café moderno tinha substituído "Le Lauby", de lambris de acaju, mas eu não
me surpreenderia se escutasse um ruído de cascos cada vez mais distante, o murmúrio das folhas de árvores e sentisse o cheiro de sombra e de feno das estrebarias.
- Como era Alain há vinte anos? - perguntou Suzanne Charell sorrindo.
- Muito louro e muito magro. Chamavam-no Aramis.
- Ele era o Athos - disse Charell. - Um sonhador...
O que tinha acontecido com os pais dele? O pai, com cabelo e bigode amarelo-açafrão, parecia um major do exército das índias. Tinham desaparecido como o gramado
e o Trianon? Não ousava perguntar.
- Lembra-se de quando meu pai nos levou à ComédieFrançaise para ver Madame Não-Se-Manca? - disse Alain.
Suzanne Charell tinha acendido um cigarro e me olhava fixamente.
- A senhora monta a cavalo, Suzanne? - disse eu, para romper o silêncio.
- Não mais.
- Sabe que Suzanne era aqui do bairro?... Passou a infância toda perto daqui, na rua Saint-James...
- Eu poderia tê-lo conhecido há vinte anos - disse Suzanne.
- Mas o senhor não iria prestar atenção em mim... Era muito pequena... Sou seis anos mais nova que Alain...
- Na época, talvez tenhamos cruzado com Suzanne na rua
- disse eu.
Charell caiu na gargalhada.
- E o que poderíamos ter feitos juntos?
135
- Eu os teria chamado para pular amarelinha comigo - disse Suzanne.
Eles se aproximaram um do outro e, em seus olhares, senti simpatia por mim, mas também uma espécie de desconforto, de incômodo, como se procurassem palavras para
me pedir que os ajudasse ou para me confiar uma coisa qualquer.
É
Naquela noite de verão, decidi voltar a pé da casa dos Charell. Eu andava casualmente, lamentando não ter feito perguntas a Alain, mas um entorpecimento tomava conta
de mim: toda aquela noite passada com eles na semipenumbra do terraço estava impregnada com a doçura de um sonho. E de novo, ao longo das ruas vazias de Neuilly,
achava que ouvia a batida de cascos e o farfalhar de folhagens de há vinte anos. Picadeiros...
Cheguei à esquina do bulevar Richard-Wallace, diante daquela curiosa construção estilo Renascença que chamam de "Castelo de Madri". Um automóvel preto parou na borda
da calçada, bem na minha altura:
-Patrick...
Alain Charell enfiava a cabeça pelo vidro baixo. Não tinha desligado o motor.
- Patrick, você vem conosco até a estação do Norte? Sentada ao seu lado, Suzanne me fixava com um olhar estranho, como se ela não me conhecesse.
- Vem conosco até a estação do Norte!
Ele, por sua vez, estava com os olhos dilatados. Os dois me botavam medo.
- Não posso, tenho que voltar para casa...
- De verdade, não quer vir conosco?
- Uma outra noite...
136
- Está bem. Uma outra noite...
Ele tinha dito isso secamente e abanava a cabeça à maneira de uma criança frustrada, à qual se recusa uma bala. Deu a partida brutalmente e o carro enfiou-se pela
avenida Comandante-Charcot. Retomei minha marcha. Ao fim de alguns instantes, levo um soco no coração. O carro estava parado a uns cinqüenta metros à minha frente
e sua carroceria negra brilhava com o reflexo da lua. Charell saiu, deixando a porta aberta. Dirigiu-se a mim.
- Você não quer mesmo vir à estação do Norte, ao apartamento? Isso me daria tanto prazer... E à Suzanne também... Sabe, ela gostou muito de você...
Nos seus lábios, a sombra de um sorriso.
- Nós nos sentiríamos um pouco menos sozinhos, entende... Ele tinha afundado as duas mãos nos bolsos do casaco, da
mesma maneira como no passado, nos bolsos do blazer, no colégio. Nesses momentos, o senhor Lafaure, nosso professor de química, o censurava por se "fazer importante".
- Mas me explique, Aramis, o que é que você vai fazer naquele apartamento da estação do Norte?
Eu tinha me esforçado para falar em tom de piada.
- Encontrar... amigos... Enfim, se é que se pode chamá-los de amigos... É uma engrenagem... Vou lhe explicar...
Ele sorria. Deu-me um grande tapa nas costas.
- Evidentemente, não é o clima do picadeiro da rua da Ferme... Bons tempos aqueles, hein, meu velho... Você me telefona, um dia desses...
Ele se dirigia num andar nervoso rumo a seu automóvel. A porta bateu. Agitava o braço pelo vidro abaixado em sinal de adeus. E eu, de pé na calçada, me dizia que
não tinha sido delicado com aquele amigo de adolescência. Afinal de contas, se tanto queriam, por que não acompanhá-los, a ele e à mulher, à estação do Norte?
137
Uma noite, por volta de onze horas, a campainha do telefone me acordou.
- Patrick... É Alain... Estou lhe atrapalhando?
- Não, não, você não está me atrapalhando - disse a ele, numa voz pastosa.
- Você pode vir se encontrar com Suzanne e comigo? É muito importante... Estamos precisando vê-lo...
- Onde vocês estão?
- Estação do Norte.
- Estação do Norte?
Eu me sentia sem vontade, pronto a me deixar arrastar pela corrente, como num pesadelo. Afinal, talvez se tratasse de um pesadelo.
- Então, você vem?
- Sim, eu vou.
- Obrigado, Patrick. Estamos na rua Dunquerque, na frente da estação. Num restaurante, ao lado do hotel Terminus-Nord. Está me ouvindo?
- Estou.
-Venha logo, é urgente.
Ele tinha dito isso num sopro antes de desligar.
Entrei. A luz branca me fez mal aos olhos e experimentei a sensação de abafamento ao ver aquela gente toda ali, apertada, dez, vinte pessoas, como em torno de mesas
de estalagens ou de banquetes. Garçons ziguezagueavam entre o estreito intervalo que restava entre as mesas e um acordeonista, ali perdido, apertava num gesto maquinal
seu instrumento, cuja música era abafada por um zunzunzum de queixas e chamados cujo impulso também se interrompia. Eu abria passagem em meio às mesas, esquadrinhando
aqueles rostos escarlates, aqueles comensais,
138
a maior parte dos quais, descascava frutos do mar, guardanapo branco amarrado em torno do pescoço.
Suzanne e Alain estavam sentados no final de uma mesa comprida vazia, num canto, no fundo da sala. Os numerosos talheres daquela mesa não tinham sido tirados. Sentei-me
ao lado de Alain, à frente de Suzanne. Ela usava uma capa de homem, grande demais para ela, com a gola baixa.
- Obrigado por ter vindo, meu velho...
Com o braço, me envolveu o ombro e nele se apoiou. Suzanne ergueu para mim um olhar apagado e a palidez de seu rosto me inquietou. Era a luz ou, pelo contraste,
o preto do banco de plástico imitando couro que tornava aquele rosto tão pálido?
- O que acha deste lugar? - disse Charell, numa voz falsamente jovial. - Uma das últimas verdadeiras brasseries parisienses...
Eu era obrigado a me debruçar sobre ele para ouvir sua voz. Poder-se-ia pensar que toda aquela gente que falava alto demais à nossa volta festejava um noivado.
- Quer comer alguma coisa?
Eu tinha colocado ao meu lado o presente que queria oferecer a Suzanne Charell já há alguns dias, uma belíssima obra sobre equitação, descoberta numa livraria da
rua de Castiglione. Mas aquele presente me parecia absurdo ali, no fundo daquele restaurante, diante do rosto pálido e crispado de Suzanne.
Ela me pegou o pulso e apertou com muita força.
- Desculpe... Não está nada bem... Nada bem...
- Está se sentindo mal, querida? - perguntou Charell. Estava lívida. A cabeça oscilava como a de um boneco e ela
teve o reflexo de avançar o braço, onde a testa encontrou apoio.
- Não se inquiete, meu velho - disse Charell. - Isso vai passar.
Levantou Suzanne pelos ombros e a levou na direção da
139
porta dos banheiros. Eu seguia os dois com o olhar. Andavam lentamente e ela se pendurava pelo braço no pescoço de Alain para não cair, a capa flutuando como um
velho roupão. O zunzunzum da sala aumentou. A uma mesa vizinha, alguém se levantou e fez um brinde, um homem de cabelo curto, a testa inundada de suor. Eu abaixei
a cabeça. A toalha da nossa mesa estava salpicada de manchas de vinho, vestígio dos que jantaram antes de nós e, sobre o prato, à minha frente, ainda havia restos
frios.
Suzanne e Alain reapareceram. Ele a segurava pela cintura e ela andava num passo mais firme. Sentaram-se. O rosto de Suzanne tinha recuperado um pouco a cor, mas
suas pupilas estavam estranhamente dilatadas. As de Alain, também. Ela sorria, um sorriso estático.
- Está bem melhor, não é Suzanne? - disse Charell.
- Oh, sim... Bem melhor...
- E se voltássemos para o apartamento? Você nos acompanha, Patrick?
Do lado de fora, Charell nos propôs dar a volta pelo conjunto de casas. Tinha chovido e o ar estava morno. Suzanne andava entre nós dois, apertando o braço de cada
um.
Entramos no bulevar Denain, uma artéria calma, ladeada de árvores, poupada da agitação e do tumulto em torno da estação do Norte. Um ônibus vazio esperava e seu
condutor tinha adormecido ao volante. Da entrada de um cinema, sob o pórtico de um imóvel, sopravam lufadas de uma música de guitarra havaiana.
Nós nos sentamos num banco. Estendi o livro a Suzanne.
-Aqui... um presente para a senhora...
Ela me contemplava, com as pupilas dilatadas, apertando a gola da capa. Tremia.
- Obrigada... muito obrigada... É tão gentil... Pôs o livro sobre os joelhos.
Virava as páginas e olhávamos as gravuras os três, na
140
penumbra. Suzanne e Alain o tempo todo tinham nos lábios aquele sorriso estranho. Pareciam perdidos num sonho.
Suzanne terminou por apoiar a cabeça contra meu ombro. Com certeza, não queriam que eu os deixasse e eu me dizia que íamos passar a noite naquele banco. Do outro
lado do bulevar deserto, de um caminhão coberto de lona, faróis apagados, dois homens vestidos com blusões pretos descarregavam sacos de carvão, com gestos rápidos
e furtivos, como se estivessem cometendo uma fraude.
Algum tempo mais tarde, uma simples nota num jornal da noite:
"Na noite passada, um industrial de Neuilly, Alain Charell, trinta e seis anos, foi ferido por duas balas de revólver num apartamento mobiliado, no bulevar Magenta,
126, onde estava, em companhia de sua mulher e de alguns amigos. No dizer das testemunhas, tratar-se-ia de um acidente. O ferido foi hospitalizado no Hôtel-Dieu."
Pediram-me que esperasse num corredor de paredes verde-claras no fim do qual se encontrava o quarto de Charell.
A porta se abriu. Não era a enfermeira, mas a menina negra, aquela que dormia ao nosso lado no sofá, na primeira vez que Alain me tinha levado ao apartamento do
bulevar Magenta. Ela vestia um costume elegante e não pude deixar de pensar que pertencia a Suzanne.
Sentou-se ao meu lado e me entregou um envelope.
- Alain me pediu para lhe dar isto... Não pode recebê-lo hoje... Está muito cansado...
Abro o envelope e leio:
"Meu querido Athos,
Aqui nada mais tenho a fazer senão pensar na época em que tudo ainda ia bem para nós, quando estávamos os dois na
141
enfermaria do colégio, tratados como dois galos na engorda pela bela Meg...
Que estranho declive, de fato, que pouco a pouco me levou, em vinte anos, daquela enfermaria ao Hôtel-Dieu...
Vou lhe explicar.
Seu
Aramis."
Saímos do hospital, a menina negra e eu. Ela tinha amarrado num arbusto o cachorrão de pêlos encaracolados do apartamento do bulevar Magenta. Ajudei-a a desfazer
o nó da coleira.
- É seu cachorro?
- Não. Pertence a Alain e a Suzanne, mas eu cuido dele. Ela sorria para mim.
- O que foi que aconteceu? - perguntei a ela. Ela hesitava em responder.
- Isso tinha que acontecer... Eles deixam entrar qualquer um no apartamento.
Ela deu de ombros. Não queria me dizer mais nada.
- Você os conhece há muito tempo? - perguntei.
- Não... Não muito tempo... Eles me ajudaram.. Deixam-me morar na casa deles.
Talvez desconfiasse de mim. Com aquela história de tiros de revólver, sem dúvida iam investigar.
- E o senhor, os conhece há muito tempo?
- Alain é meu amigo de infância.
- O cachorro nos precedia uma dezena de metros, voltando-se de quando em quando para verificar se ainda estávamos lá. Não dizíamos mais nada, andávamos ao lado um
do outro. Sim, aquele costume de tweed que ela vestia, eu o tinha visto, um dia, no corpo de Suzanne Charell.
Conforme chegamos à Porte Saint-Denis compreendi de imediato que o cachorrão encaracolado nos guiaria, no seu andar pesado e indolente, até o quarteirão da estação
do Norte.
142
XII
Por que Marc Newman e eu íamos com tanta freqüência depositar uma flor no túmulo de Oberkampf?
Por trás do fortim, um antigo muro se erguia, protegido por moitas de rododendros. Newman era o primeiro a escalá-lo e se deixava cair. Em seguida, me ajudava a
descer, segurando-me pela cintura.
A sebe ficava em nível inferior e o mesmo muro, do outro lado, tinha mais de dez metros de altura, sem a menor aspereza.
Era como descer ao fundo de um poço. Era fresco, nos dias de calor, naquele pequeno jardim onde Oberkampf dormia seu último sono. O fortim estendia sua sombra por
sobre as moitas de rododendros e o muro. Em baixo, as folhas de um salgueiro-chorão escondiam pela metade o túmulo de Oberkampf cujo próprio nome evocava a água
de um poço ou o mármore negro ondeado por um reflexo de lua.
Newman tinha descoberto aquela sebe secreta sobre a qual não ousávamos perguntar a Pedro se era uma parcela da propriedade do Valvert e, a cada excursão, não sabíamos
se teríamos forças suficientes para escalar o muro em sentido inverso.
Newman me apoiava sobre os ombros e eu me instalava escarrapachado no topo do muro. Eu puxava Marc em minha direção com todas as minhas forças. Numa acrobacia, ele
143
passava, de um só impulso, para o outro lado do muro. Com o choque, eu estava arriscado a balançar e quebrar o pescoço.
No retorno do túmulo de Oberkampf, sentíamo-nos como dois mergulhadores, um pouco tontos por estarmos de volta à superfície.
Nas noites de verão, do nosso quarto no Pavilhão Verde, deslizávamos para o pátio da Confederação, que era preciso contornar o mais rapidamente possível. Com efeito,
estávamos arriscados a encontrar Pedro no momento de sua ronda, ou Kovnovitzine e seu cão Chura. E ficaríamos sem saída por termos ido passear depois das luzes apagadas.
Vencido o grande gramado, estávamos ao abrigo do perigo. Afundávamos na escuridão do parque em direção da pista Hébert e do tênis. Um caminho subia em direção ao
bosque e, lá em cima, escalávamos o muro da cerca do colégio. Atravessávamos uma clareira ao final da qual brilhava um vago luar de aurora e tínhamos afinal chegado
à borda do terreno de aviação, como Newman o tinha batizado um dia em que passeava por lá.
Era um anexo do aeródromo de Villacoublay? Newman achava que não. Conseguiu arrumar um mapa de estado-maior e o escrutinamos com uma lente: o terreno de aviação
não figurava nele. Tínhamos marcado com uma cruz sua localização: bem no meio do bosque.
Deitávamo-nos na grama, perto da cerca de arame farpado. Lá em baixo, sombras entravam no hangar e, na saída, empurravam carrinhos e carregavam malas. Um automóvel
ou caminhão aguardava do outro lado do terreno e neles se embarcavam aquelas mercadorias todas. Logo o ruído do motor diminuía. Uma luz se acendia na fachada do
hangar e diante de sua entrada, algumas pessoas com roupa de mecânico jogavam cartas em torno de uma mesa. Ou jantavam, simplesmente. O murmúrio de suas conversas
dentro da noite. Uma
144
música. Um riso de mulher. E muitas vezes, colocavam na pista sinais luminosos, como que para facilitar a aterrissagem de um avião que não vinha jamais.
- Teríamos que ver o que eles traficavam de dia - tinha me dito Newman.
Mas de dia tudo estava deserto e abandonado. O capim invadia a pista. No fundo do hangar, onde o vento fazia tremer uma chapa de ferro mal presa, dormia a carcaça
de um velho Farman.
145
XIII
Pois bem, voltei a ver Newman. Uma bola de borracha verde-clara tinha batido de encontro a meu ombro. Virei-me. Uma menininha loura de uns dez anos me olhava com
um ar perturbado e hesitava em vir buscar sua bola. Afinal, decidiu-se. A bola tinha deslizado pela areia a alguns metros de mim e como se temesse que eu a confiscasse,
apanhou-a com um gesto rápido, apertou-a contra o peito e se pôs a correr.
Naquele início de tarde, éramos ainda muito pouca gente na praia. A menininha, esbaforida, sentou-se ao lado de um homem de calção azul-marinho que tomava banho
de sol, deitado de bruços, o queixo repousando sobre os dois punhos fechados. Como tinha o cabelo cortado rente e a pele muito queimada - quase negra - não reconheci
imediatamente meu antigo colega de Valvert, Marc Newman.
Ele me sorriu. Depois se levantou. Newman, há quinze anos era, junto com McFowles, um dos melhores jogadores de hóquei do colégio. Parou à minha frente, intimidado.
A menininha, a bola de encontro ao peito, tinha lhe tomado a mão e me olhava com um olhar desconfiado.
- Edmond... É você?
- Newman!
Ele caiu na gargalhada e me deu um abraço.
146
- E então! O que está fazendo aqui?
- E você?
- Eu?... Estou tomando conta da pequena...
Ela agora parecia completamente segura e me sorria.
- Corinne, apresento a você um velho amigo meu... Edmond Claude...
Estendi-lhe a mão e ela, por sua vez, me estendeu a dela com hesitação.
- Que linda bola você tem - disse.
Ela inclinou a cabeça, docemente, e eu fiquei enternecido
com sua graça.
- Você está de férias aqui? - perguntou Newman.
- Não... vou trabalhar no teatro esta noite... estou em turnê...
- Você virou ator?
- Pode-se dizer que sim - disse eu, perturbado.
- Vai ficar por aqui um pouco?
- Não, infelizmente. Tenho que ir embora de novo depois de amanhã... Com a turnê...
- Que pena...
Parecia decepcionado. Pousava a mão no ombro da pequena.
- E você? Vai ficar aqui muito tempo? - perguntei.
- Oh, sim... Talvez para sempre - disse Newman.
- Para sempre?
Ele, sem dúvida, hesitava em falar diante da pequena.
- Corinne, vai botar seu vestido - disse Newman.
Com a menininha fora do alcance da nossa voz, Newman aproximou-se de mim.
- Olha só - disse ele em voz baixa -, não me chamo mais Newman, mas "Valvert"... Valvert, como o colégio... Estou noivo da mãe da menina... Estamos hospedados numa
vila, minha noiva, a pequena, a mãe da minha noiva e um velho,
147
que é o padrasto da mãe da minha noiva... Pode parecer complicado...
Ele estava sem fôlego.
- Uma família muito burguesa de Nantes... Para mim, você entende, isso representa algo estável... Inútil lhe dizer que até aqui, eu só vaguei...
A menina andava em nossa direção num vestido vermelho com babados. Tinha colocado a bola numa sacola de malha. A cada passo sacudia um pé e caía areia da sandália.
-Já andei treinando por aí - cochichou Newman, numa voz cada vez mais precipitada. - Cheguei a passar três anos na Legião... Vou lhe explicar, se tivermos tempo...
Mas lembre-se... Valvert... Nada de gafes...
Ele enfiou uma calça de tecido azul-céu e um pulôver de casimira branca com a agilidade que tinha no colégio. Eu me lembrava do nosso espanto e do de Kovnovitzine
quando Newman fazia uma estrela ou subia na corda, as pernas perpendiculares ao busto, em alguns segundos.
- Você não mudou - disse.
- Nem você.
Ele pegou a menina pelo meio do corpo e, numa elegante tração de braço, a colocou a cavalo sobre os ombros. Ela ria e apoiava a bola contra o crânio de Newman.
- Desta vez, Corinne, nada de galope... Vamos voltar a passo...
Dirigíamo-nos rumo à esplanada do cassino.
- Vamos tomar um drinque - disse Newman.
- Um salão de chá ocupava a ala esquerda do cassino, junto com outras lojas. Sentamo-nos a uma das mesas do terraço, ladeada de tinas com flores vermelhas. Newman
pediu um café "forte". Eu também. A pequena queria um sorvete.
- Não é razoável, Corinne...
Ela abaixava a cabeça, decepcionada.
148
- Está bem... Dou o sorvete... Mas então você me promete não comer doce esta tarde.
- Prometo. -Jura?
Ela estendeu o braço para jurar e a bola que apertava contra si caiu no chão. Peguei-a e depositei-a delicadamente sobre os joelhos dela.
A menina tomava seu sorvete em silêncio.
Newman tinha aberto o pára-sol preso ao meio da mesa para que ficássemos na sombra.
- Então, como é, você se tornou comediante?...
- Pois é, meu velho...
- Você trabalhava numa peça no colégio, me lembro... Que peça era mesmo?
-Noé, de André Obey. Eu era a enteada de Noé.
Fomos tomados, Newman e eu, de um riso louco. A pequena ergueu a cabeça e se pôs a rir também ela, sem saber por quê. Sim, eu tinha feito um certo sucesso naquele
papel, devido à minha blusa e à minha saia de camponesa.
- Eu gostaria muito de vê-lo esta noite no teatro - disse Newman. - Mas vamos ficar na vila... É aniversário do velho...
- Não tem a menor importância. Meu papel é tão pequenino, sabe...
Diante de nós, na borda da esplanada do cassino, um cartaz da nossa peça estava afixado a um poste de cor branca que recortava o céu azul como o mastro de um veleiro.
- É a sua peça? - perguntou Newman. -É.
As estrelas vermelhas do título - Senhorita Eu - tinham algo de alegre e veranil, em harmonia com o céu, a praia, as fileiras de barracas sob o sol. De onde estávamos,
podíamos ler o nome da nossa estrela e, a rigor, o do meu velho camarada SylvestreBel, em caracteres duas vezes menores. Mas o meu nome na
149
parte inferior do cartaz não estava visível. A menos que se usassem binóculos de marinha.
- E você? Vai se instalar aqui? - perguntava eu a Newman. -Vou. Vou me casar e tentar montar um negócio na região.
- Negócio de quê?
- Uma agência imobiliária.
A pequena terminava o sorvete e Newman acariciava distraidamente seu cabelo louro.
- Minha futura mulher quer ficar aqui. É um pouco por causa de Corinne... Para uma criança, é melhor morar à beira do mar do que em Paris... Se você visse a escola
dela... Fica daqui a poucos quilômetros num castelo com um parque... E adivinhe a quem pertence esse castelo? A Winegrain, um antigo aluno doValvert...
- Eu não o tinha conhecido bem, esse Winegrain, mas seu nome fazia parte da lenda do colégio, como outros nomes: Yotlande, Bourdon...
A vila em que moramos fica atrás do cassino... Na grande avenida... Eu o convidaria de bom grado para vir tomar um aperitivo esta noite, mas o velho está sempre
de mau humor...
Ele tinha esticado as pernas sobre uma cadeira e cruzava os braços, numa atitude de esportista em repouso em que às vezes se deixava ficar durante o recreio.
- Mas por que você mudou de nome? - perguntei em voz baixa, depois da menina ter saído da nossa mesa.
- Porque estou recomeçando minha vida do zero...
- Se você quer se casar, vai ser obrigado a pelo menos lhes dizer o seu nome de verdade...
- De jeito nenhum... Vou ter novos documentos... Nada mais simples, meu velho.
Sacudiu cada um dos pés e as alpargatas brancas caíram, uma após a outra.
- E a pequena? Tem pai?
150
Ela contemplava a vitrine de um cabeleireiro, um pouco mais longe, muito tesa, muito grave, a bola entre o ventre e as mãos cruzadas.
- Não, não... O pai sumiu... Não se sabe onde está... Aliás, é melhor assim... Agora o pai sou eu...
Eu não ousava fazer perguntas. Já no colégio, Newman se cercava de mistério e quando alguém queria saber mais sobre ele - endereço, idade exata, nacionalidade -
sorria, sem responder, ou desviava o assunto. E cada vez que um professor o interrogava durante a aula, teimava em manter a boca fechada. Terminaram tomando sua
atitude como timidez doentia e já os professores não o interrogavam mais, o que lhe dispensava de aprender as lições.
Eu me atrevi.
- O que você fez até hoje?
- De tudo - respondeu Newman num suspiro. - Trabalhei três anos em Dakar, numa sociedade de importação e exportação. Dois anos na Califórnia... Montei um restaurante
francês... Antes disso tudo, tinha feito meu serviço militar no Taiti... Fiquei um bocado de tempo lá... Encontrei um dos nossos colegas de turma em Moorea... Portier...
Sabe... Christian Portier...
Ele falava depressa, febril, como se não se abrisse com ninguém há muito tempo ou temesse ser interrompido pela chegada de um intruso antes de ter dito tudo.
- Enquanto isso, me alistei na Legião... Fiquei três anos... Desertei...
- Desertou?
- Não verdadeiramente... Consegui certificados médicos... Fui ferido lá e posso até conseguir uma pensão por invalidez... Em seguida, fui durante muito tempo motorista
da senhora Fath...
Aquele rapaz de aparência franca e esportiva - uma névoa
151
o envolvia, resguardando seu corpo. Fora suas virtudes atléticas, tudo nele era vago e incerto. Antigamente, no colégio, um velho senhor vinha buscá-lo, nos sábados
de saída, ou lhe fazia uma visita durante a semana. Tinha uma cor de louça, bengala, os olhos no nível da cara e sua frágil silhueta se apoiava no braço de Newman.
Marc o tinha apresentado a mim como seu pai.
Usava terno de flanela e lenço de seda. Falava com um sotaque indefinível. Efetivamente, Newman o chamava de papai. Mas, uma tarde, nosso professor tinha anunciado
a Newman que "o senhor Condriatseff o esperava no pátio". Era o velho. Newman lhe escrevia e aquele nome sobre o envelope me intrigava: Condriatseff. Eu lhe tinha
pedido esclarecimento. Ele se contentou com sorrir para mim...
- Gostaria muito que você fosse testemunha no meu casamento - disse Newman.
- Para quando é?
- No final do verão. O tempo de achar um apartamento por aqui. Não podemos mais morar na vila com o velho e a mãe da minha mulher. Eu gostaria muito de um apartamento
ali em baixo...
Ele me apontava, com um gesto casual, os grandes edifícios modernos, bem no fim da baía.
- E a sua mulher, onde a conheceu?
- Em Paris... Quando saí da Legião. Inútil lhe dizer que eu não estava muito bem. Ela me ajudou muito... Você vai ver... é uma menina formidável... Na época, eu
nem conseguia mais atravessar a rua sozinho...
Ele parecia levar a sério suas novas responsabilidades de pai e não largava o olho da menina. Esta continuava absorta na contemplação das vitrines do cassino.
Ele inclinou a cabeça em minha direção e fez um
movimento de queixo em direção à rua que ladeava o flanco do cassino e descia até à praia.
- Olhe... - diz ele em voz baixa. - É minha noiva, com a mãe...
Duas mulheres morenas da mesma altura. A mais jovem tinha cabelo comprido e usava um roupão de tecido-esponja vermelho até a metade das coxas. A outra vestia um
pareô nas cores ferrugem e azul-pastel. Passavam a poucos metros de nós, mas não podiam nos ver por causa das tinas de flores e arbustos que nos ocultavam.
- É engraçado... - disse Newman. - De longe, se poderia acreditar que têm a mesma idade as duas... São bonitas, hein?
Eu admirava o andar ágil delas, a postura da cabeça, as pernas compridas e bronzeadas. Pararam no meio do aterro deserto, tiraram os sapatos de salto e desceram
a escada da praia lentamente, como se para se oferecerem o máximo possível de tempo aos olhares.
-Acontece de eu confundir as duas - diz Newman, sonhador.
Elas tinham deixado alguma coisa misteriosa na sua passagem. Ondas. Sob o charme, eu escrutinava a praia esperando percebê-las de novo.
- Daqui a pouco vou lhe apresentar... Você vai ver... A mãe está tão bem quanto a filha... Elas têm o rosto redondo e olhos violeta... E o meu problema é que amo
uma tanto quanto
a outra.
A pequena voltava à nossa mesa correndo.
- De onde você está vindo? - perguntou Newman.
- Fui ver os álbuns de figurinhas no livreiro.
Ela estava sem fôlego. Newman lhe tirou a bola das mãos.
- Logo será hora de voltar para a praia - disse.
- Não já - disse a menina.
E, aproximando-se de Newman:
- Gérard... Você não pode comprar um álbum de figurinhas? Gerárd?
Ela estava de cabeça baixa, intimidada. Ruborizada por ter pedido o álbum.
- Está bem... Está bem... Com a condição de você não comer bala esta tarde... Tome, compre três álbuns... Nunca se sabe... É preciso fazer provisões para o futuro.
Ele procurou no bolso, tirou uma nota amassada e entregou a ela.
- Você me traz o Prazer da França...
- Três álbuns de figurinhas? - perguntou a menina, espantada.
-É... Três...
- Obrigada, Gérard...
Ela se jogou nos braços dele e beijou-lhe as duas bochechas. Atravessava correndo a esplanada do cassino.
- Você agora se chama Gérard? - perguntei.
- Sim. Se a gente muda de sobrenome, aproveita para mudar o primeiro nome na mesma ocasião...
Na avenida, à nossa direita, apareceu um homem, a pele vermelha e o cabelo grisalho penteado à escova. Andava num passo seco e regular, usando um casaco caseiro
marrom, calça azul e sapatos de Charente.
- Olhe... aí está o velho - disse Newman. - Ele nos vigia... Toda tarde verifica se estamos mesmo na praia... Ainda está firme para setenta e seis anos, acredite...
De estatura alta, mantinha-se muito ereto. Sua postura tinha alguma coisa de militar. Sentou-se num dos bancos do aterro, diante da praia.
- Está vigiando Françoise e a mãe - disse Newman. - Você não pode imaginar o que a gente sente quando se vira e dá com esse sujeito, com essa cara de capataz...
Aparentemente, sentia um frio na espinha. Lá em baixo, o velho se levantava de vez em quando e vinha se apoiar na grade do aterro, depois se sentava de novo no
banco.
- Um traste... A mãe de Françoise é obrigada a suportar seu padrasto porque é dele que elas dependem para sobreviver, ela, Françoise e a pequena... Um azedo... Além
de tudo, adicionou uma partícula a seu nome... Diz chamar-se Grout de 1'Ain... Foi corretor de imóveis... Você não pode imaginar a avareza do sujeito... A mãe de
Françoise é obrigada a manter um livro de contas onde deve anotar o mínimo botão que compre... Ele me botou de quarentena... Finge que não me vê... Não admite que
eu durma no mesmo quarto que Françoise... Desde o início desconfiou de mim por causa disto... Olhe...
Levantou bruscamente a manga esquerda do pulôver, descobrindo uma rosa-dos-ventos tatuada no seu braço.
- Está vendo... Não é nada demais...
- Você tinha que se casar o mais rápido possível e ir com sua mulher morar em outro lugar - disse.
Lá em baixo, no banco, o velho tinha cuidadosamente desdobrado um jornal.
- Edmond, posso confiar em você?
- É claro.
- Escute... Elas querem que eu liquide Grout de 1'Ain...
- Quem?
- Françoise e a mãe. Elas querem que eu elimine o velho... Seu rosto estava tenso e uma grande ruga transversal lhe
barrava a testa.
- O problema é fazer isso limpamente... Para não levantar suspeitas...
O céu azul, a praia, as barracas listadas de laranja e branco, os canteiros de flores diante do cassino e aquele velho, lá em baixo, no seu banco, a ler jornal sob
o sol...
- É inútil refletir, não sei como fazer para liquidar Grout de l'Ain... Tentei duas vezes... Uma com meu carro... Uma noite, ele estava dando uma volta lá fora
e tentei atropelá-lo... assim... acidentalmente... foi idiota...
Ele esperava uma reação da minha parte, uma opinião, e eu sacudia bobamente a cabeça.
- Na segunda vez, passeávamos nos rochedos de Batzsur-Mer a alguns quilômetros daqui... Eu tinha decidido jogá-lo do abismo... Depois desisti no último momento...
O que é que você acha disso?
- Não sei.
- De todo modo, não arrisco muito... Terei sempre a meu favor os testemunhos de Françoise e da mãe... Muitas vezes falamos disso os três... Elas acham que o melhor
meio seria levá-lo outra vez para passear em Batz...
Meu olhar se demorava sobre o velho lá em baixo, que tinha dobrado outra vez o seu jornal, tirava do bolso o cachimbo e o enchia lentamente. Chamava-se Grout de
l'Ain? Eu tinha vontade de gritar seu nome para ver se iria se virar. A menina, os álbuns debaixo do braço, um sorriso radiante nos lábios, veio sentar-se à nossa
mesa.
Eu estava perplexo. Aquela bruma de há quase quinze anos continuava colada à pele de Marc Newman. Sua arte de não responder às questões precisas. Mas eu me lembrava
também de seus bruscos acessos de volubilidade, como jatos de vapor sob uma tampa pesada demais. Sim, como saber, com ele? Condriatseff.
Vagos pensamentos me atravessavam, no terraço daquele café, sob o sol, enquanto uma brisa inflava as barracas de listas laranja e brancas e fazia oscilar o cartaz
da nossa peça, sobre o mastro do veleiro. Eu me dizia que o colégio nos tinha deixado bastante desarmados diante da vida.
Ela mostrava a Newman as ilustrações do álbum e ele, debruçado por cima do ombro dela, virava as páginas do álbum. De tempos em tempos, ela levantava a cabeça para
Marc, sorrindo. Parecia gostar muito dele.
XIV
Não é uma noite como as outras. Tomei o último trem, o das vinte e três horas e quarenta e três. Charell me espera na plataforma. Atravessamos o saguão com os guichês
fechados e depois o trevo diante da estação, onde eu fazia a volta de bicicleta com Martine e Yvon.
Saímos à rua pela calçada que ladeia o jardim público. Do outro lado, o vento morno acaricia a hera do albergue Robin dos Bosques cujo bar ainda está iluminado àquela
hora tardia. Charell entrou para comprar um maço de cigarros. Mas não tinha ninguém.
Retomamos nossa marcha. A esquerda, sob o terraço de cimento, as portas marrons com vigias do cinema. Uma avenida orlada de tílias sobe em direção à rua Docteur-Dordaine
onde moram Martine e Yvon. A parada do ônibus. Depois de tantos anos, a frase de Bordin me voltou à mente:
- Agiovedi, amici miei...
A passagem de nível. A prefeitura. E Oberkampf pensativo em sua sobrecasaca de bronze. Daqui para a frente, é o único habitante do vilarejo. Nós escutamos o jorro
de cascata do Bièvre, em baixo da ponte.
O portão está entreaberto. A aléia se abre diante de nós, mas hesitamos. Pouco a pouco aparecem, naquela luz de aurora boreal, a enfermaria, o mastro da bandeira e as árvores.
Entramos os dois. Não ousamos ir além do grande plátano.
A grama brilha numa fosforescência verde-pálida. Era lá, naquele ponto do gramado, que esperávamos, para começar a partida, o apito de Pedro. Éramos meninos tão valentes...
Patrick Modiano
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















