



Biblio VT




Clarence apertou o botão do subsolo e seu elevador privativo começou a descer, na velocidade vertiginosa de sempre, os 240m que o separavam da garagem, 80 andares abaixo.
Em algumas horas o mercado financeiro, as bolsas de valores, os mercados futuros e toda a comunidade de negócios começariam a implodir. Nova York, o resto da América e, mais tarde, o Extremo Oriente sofreriam as conseqüências das ações que Julius Clarence tramara há alguns anos, executara lenta e cuidadosamente nos últimos meses, semanas e dias e intensificara nas últimas horas.
As bolsas e mercados da Europa seriam muito tumultuados no dia seguinte. Quanto a Nova York, bem, Nova York começaria amanhã, após a leitura dos jornais e a apresentação dos noticiários matutinos da TV, a viver uma de suas horas mais amargas. A pior desde o grande crash da bolsa em 1929.
O porteiro da garagem não estranhou o fato de o senhor Clarence estar dirigindo o carro. Acontecia com freqüência. O possante Jaguar tremeu com a potência de seu motor V6 de 550 cavalos e juntou-se ao tráfego da tarde de quinta-feira de fim de inverno, na parte sul da ilha de Manhattan.
Enquanto o carro subia silenciosamente a Franklin Delano Roosevelt Drive, Julius retirou cuidadosamente a barba e o bigode postiços, rigorosamente iguais à barba e ao bigode verdadeiros, raspados na véspera.
O corte do cabelo seria um problema. Para isso necessitaria da ajuda de terceiros. Precisaria contar com um pouco de sorte, mas Julius Clarence, em toda a sua vida, jamais temera arriscar a sorte.
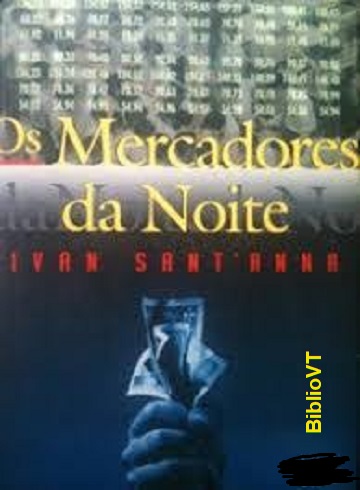
O reluzente Jaguar abandonou a FDR Drive, à direita, na altura da Rua 34. Passou por baixo da via expressa e seguiu para o acesso do Midtown Tunnel. Dobrou à direita outras duas vezes e desceu para o túnel. Alguns minutos mais tarde, do outro lado do East River e já de volta à luz do dia, parou na cabine de pedágio. Pagou os 3 dólares da tarifa e seguiu rumo leste, pela Long Island Expressway, até chegar ao Queens Boulevard.
Clarence dirigiu até o estacionamento municipal da Rua 92, junto ao Queens Center, um centro comercial de grande movimento, principalmente naquela época, com as grandes liquidações de fim de inverno. Antes de sair do carro, colocou lentes de contato de cor castanha no lugar das lentes incolores que nada escondiam de seus frios olhos azuis. Deu as costas ao Jaguar. Entrou no shopping pela porta da Avenida 57.
Lá dentro, andando apressadamente, comprou, em pouco mais de meia hora, sempre pagando em dinheiro, dois pares de sapatos, duas calças jeans, quatro camisas esporte, meias e roupas de baixo. Adquiriu também uma jaqueta de couro forrada com pele de carneiro e uma valise. Finalmente, entrou em uma farmácia. Comprou objetos de toalete e uma tesoura.
Nem um observador atento notaria ser o executivo alto e de meia-idade, que entrara no banheiro do shopping, o mesmo a sair 10 minutos depois, usando os trajes informais de um turista e carregando uma pequena valise. Clarence deixara para trás a barba e o bigode postiços, retalhados a tesoura e descartados no vaso sanitário.
Saiu do shopping por uma porta lateral. Andou meia quadra até a estação de metrô de Woodhaven Boulevard. Pegou um trem e voltou a Manhattan. Desceu na 42 e seguiu para sudoeste. Entrou em um salão de barbeiro na esquina da 39 com a 8ª Avenida. Percebeu ser a maioria dos clientes composta de homossexuais. Ignorou alguns olhares interessados. Fez sinal a um barbeiro, mostrando a cabeleira grisalha, e dirigiu-se à cadeira indicada pelo profissional. Pediu um corte radical de quase todo o cabelo.
Se o suarento barbeiro chinês notou alguma semelhança entre o homem sentado em sua cadeira e o famoso bilionário, cuja foto freqüentava regularmente os jornais, revistas e noticiários da televisão, não o demonstrou. A gorjeta foi ligeiramente maior que a habitual.
Três horas já haviam decorrido desde que Julius deixara o escritório. Os primeiros sintomas do pandemônio que iria apoderar-se do mercado já deveriam estar se manifestando. O telefone do Jaguar, no estacionamento do Queens, estaria tocando sem parar. Mas isso já não lhe dizia respeito. Seu único problema era embarcar o turista italiano Servulo Anicetto no vôo 548 da Cia. Aérea Sabena para Bruxelas.
Ao sair do salão de barbeiro, Julius caminhou algumas quadras por entre as ruas mais mal freqüentadas da cidade. Dirigiu-se ao terminal de ônibus da Rua 42. Carregando a maleta comprada no Queens, sem a menor hesitação, foi diretamente à plataforma da linha do Aeroporto Kennedy. Entrou no ônibus ali estacionado e relaxou num banco dos fundos.
Hora e meia depois, já no aeroporto, retirou do bolso da jaqueta um envelope que carregara consigo desde a manhã. Continha o passaporte de Servulo Anicetto, 55 anos, natural de Pescara, na costa do Adriático. Fisionomia igual à de Clarence, sem barba e bigode, de olhos castanhos e cabelos cortados bem curtos.
Naquele momento, Julius terminava sua vitoriosa e polêmica existência. Servulo Anicetto nascia para uma breve passagem pela Terra. Clarence planejara os eventos há muito tempo. Sabia que, agora, com a ação iniciada, não poderia voltar atrás – era como se o destino houvesse ditado tudo e a ele só coubesse obedecer.
O italiano apresentou sua passagem de classe econômica no balcão da Sabena. Escolheu um lugar no fundo do avião, junto à janela, área de fumantes. Embora Servulo, ou melhor, Clarence, não fumasse há vários anos, achava os fumantes pessoas mais interessantes e, ainda que não pretendesse iniciar nenhum tipo de relacionamento durante a viagem, fez a escolha do lugar mais por força do hábito.
A compra da passagem fora planejada com cuidado. O bilhete compreendia os trechos Los Angeles/Nova York/Bruxelas/Copenhague. Havia sido comprado três meses antes em San Diego, na Califórnia, por um homem alto, com um curativo cirúrgico a esconder-lhe a fisionomia. Pagou à vista, em dinheiro. As folhas correspondentes aos trechos Los Angeles/Nova York e Bruxelas/Copenhague foram simplesmente destruídas.
Tudo transcorrera a contento. Servulo dirigiu-se a um bar, próximo ao portão de embarque. Teria ainda 90 minutos de espera antes da decolagem. Sentou-se a uma mesa do canto. Pediu à garçonete uma dose de vodca gelada. Passou a bebericar lentamente.
Ao lado da mesa havia um aparelhinho de TV. Anicetto observou as instruções, colocou na máquina quatro moedas de um quarto de dólar e apertou o interruptor.
A telinha iluminou-se imediatamente. Percorreu diversos canais. De saída, percebeu estar a maioria apresentando noticiários. Alguns em edição extra. Fixou-se em uma estação de maior audiência. Começou a prestar atenção. O coração acelerou-se, os músculos do estômago contraíram-se. Era a velha sensação de predador no ataque, sua conhecida há 40 anos.
Segundo o apresentador do noticiário, o Índice Industrial Dow Jones da Bolsa de Valores de Nova York despencara 2.000 pontos na última meia hora de pregão, a maior queda percentual desde a segunda-feira negra de outubro de 1987. Computadores programados para especulação seriam os responsáveis pelo colapso. O dólar caíra violentamente e a onça-troy do ouro subira 25 dólares.
O locutor mantinha a fisionomia preocupada, a voz mais grave do que o normal.
Quando o vôo 548 foi chamado, Servulo deixou uma nota de 10 dólares sob o copo, levantou-se e dirigiu-se ao portão de embarque.
O avião estava vazio, como normalmente acontece na baixa temporada, apesar das tarifas baratas provocadas pela guerra de preços que vinha levando diversas companhias aéreas à falência. Precisamente às 8h30 da noite as quatro turbinas Pratt & Whitney foram aceleradas ao máximo e o 747 decolou.
Da janela, nada se via da noite gelada de inverno. Anicetto encontrava-se sozinho, num conjunto de três poltronas do lado direito, perto da cauda. Tomou mais uma dose de vodca. Mal tocou na bandejinha do jantar. Passou a observar os passageiros dentro de seu limitado campo de visão.
Segundo Julius Clarence, as pessoas interessantes ou voavam na primeira classe ou na classe econômica. O pessoal jovem, quase sempre na econômica. E Clarence gostava de gente jovem. Na classe executiva viajava o pessoal mais desinteressante. Gente que preenchia relatórios e tomava remédios para úlcera. Poucas mulheres usavam a executiva. E Julius também sempre gostara de mulheres, principalmente bonitas, principalmente bonitas e jovens.
No começo de sua vida, Julius viajara algumas vezes na classe econômica. Isso muito no começo. Quanto à executiva, ao ser inventada, Julius já voava de primeira. Nos últimos anos, usava seus próprios aviões, aparelhos fretados ou pertencentes a amigos e parceiros de negócios. Pois Clarence possuía muito dinheiro e todas as coisas que ele pode comprar: limusines, iates, mansões, cavalos de corrida, fazendas e obras de arte. E estava largando tudo isso para nascer de novo, com outro nome, outra fisionomia, noutro lugar. Mas, antes, iria arrebentar o mercado.
O mercado fora a coisa mais importante para ele, até alguns anos atrás. A própria razão de sua existência. Antes de o Sindicato derrotá-lo.
Servulo dormiu bem. Julius, nas últimas noites, quase não dormira, devido à ansiedade. Era sempre assim quando estava em jogo uma grande operação. A espera, angustiante. A operação em si relaxava. A não ser quando dava errado, coisa rara. Mas esta era a maior operação de Julius Clarence. Iria dar certo. Julius e Servulo tinham certeza disso.
Após seis horas e meia de vôo sobre a escuridão do Atlântico Norte, o avião pousou em Bruxelas. Eram 9h30 da manhã devido à diferença de fuso horário.
Uma enevoada manhã de inverno acolheu o turista italiano. Servulo desembarcou, carregando apenas a valise contendo ainda o terno do magnata americano Julius Clarence.
As autoridades do aeroporto mal prestaram atenção ao simpático senhor italiano. Só duas coisas preocupam os funcionários da imigração do aeroporto de Bruxelas: embarque de terroristas e desembarque de imigrantes ilegais. Como sede da Comunidade Econômica Européia, a Bélgica é muito zelosa nessa vigilância. Servulo era italiano, cidadão europeu. O avião procedia de Nova York. Coisa menos suspeita, impossível.
Tão logo livrou-se das autoridades, Anicetto saiu para o saguão do terminal. Dirigiu-se a um guichê de câmbio. Ao comprar francos belgas, moeda atrelada ao marco alemão, constatou a violenta queda do dólar.
Depois de examinar rapidamente o aeroporto, decidiu tomar um trem para a cidade. Observou os sinais indicativos, desceu por uma escada rolante e comprou a passagem no subsolo. Encontrou facilmente a plataforma de embarque do Airport/City/Express. Praguejou ao ver que uma composição acabava de deixar a estação.
Mas não se aborreceu por muito tempo. Um novo trem se aproximou e o italiano embarcou em um vagão de segunda classe, como determinava a passagem. Dirigiu-se a um compartimento de apenas 20 lugares, reservado a fumantes. Pouco depois, entrou outro passageiro, que se sentou do outro lado, junto à janela. Usava uniforme, aparentando ser um ferroviário.
O comboio não demorou a partir. Servulo passou a examinar a paisagem feia e cinzenta que, como na maioria dos lugares, margeia a ferrovia.
O trajeto entre o aeroporto e a Gare du Nord durou apenas 15 minutos. O italiano pôde observar o intenso tráfego de automóveis do lado de fora. Ficou satisfeito por haver optado pelo trem. Quando chegou à gare, dirigiu-se ao imenso saguão, apinhado de gente àquela hora.
Ao examinar os jornais em um quiosque, Servulo constatou, pela primeira vez, a extensão da crise imaginada e desenvolvida por Julius Clarence. As manchetes dos matutinos não deixavam margem a dúvidas. CRASH NA BOLSA DE NOVA YORK. QUEDA RECORDE NA BOLSA DE TÓQUIO. VIOLENTA ALTA DO OURO E DO PETRÓLEO. BOLSAS ABREM MAIS TARDE NA COMUNIDADE EUROPÉIA. BILIONÁRIO PODE TER DADO UM GOLPE NO MERCADO.
Seu mercado.
Comprou vários jornais e os comprimiu dentro da valise. Deixou a gare pela porta principal e saiu à procura de um hotel. Tencionava algo simples, com o mínimo de conforto necessário: quarto com banheiro, para um banho relaxante, e um aparelho de TV. Um lugar onde não exigissem cartão de crédito. Não teve sorte. Depois de caminhar 300m, submetido a um vento frio e cortante, encontrou apenas o President, onde acabou entrando.
Na recepção murmurou algo, em francês, sobre uma viagem às pressas. Convenceu o funcionário a aceitar um depósito em dinheiro. Preencheu a ficha com os dados de Servulo Anicetto.
Dez minutos depois, já no quarto, pediu uma xícara de café. Mais tarde, enquanto sorvia lentamente a bebida, deu uma rápida espiada nos jornais. Sorriu satisfeito.
Mas ler os jornais, ligar a televisão, inteirar-se da evolução dos acontecimentos desde a tarde da véspera, quando saíra de seu escritório em Manhattan, tudo isso ficaria para depois. Agora precisava fazer uma chamada telefônica local.
CAPÍTULO 2
Tartuf Zardil fora o maior cirurgião plástico de sua época. Sua capacidade e competência permaneciam intactas. Entre os antigos colegas, era ainda uma figura lendária; seus livros, consultados por estudantes e professores; as técnicas que inventara, ainda empregadas nos hospitais do mundo inteiro. Mas a bebida pusera um ponto final em sua brilhante carreira.
Começara a beber ainda jovem, em Istambul, onde se graduara. Continuara a fazê-lo, em escala crescente, em Zurique, onde cumprira os anos de residência.
Bolsista pobre e mal remunerado, sempre a passar privações, sempre maldormido, a correr de uma enfermaria a outra, a cobrir, em troca de pagamento, os plantões de colegas, sem a bebida não teria conseguido suportar a pobreza, o cansaço e a solidão.
O hábito, iniciado como uma fuga às dificuldades do estudante pobre, fora se apoderando do médico, até ocorrer a tragédia, há algum tempo temida pelos amigos.
O doutor Zardil bebera demais na noite anterior. Dormira mal e por poucas horas. A cirurgia em Adriana Ferlucci, a celebrada atriz italiana, transcorrera sem incidentes. Ao final, fora aplicada uma dose de penicilina, embora a ficha da paciente mencionasse intolerância ao medicamento. A atriz morrera e a carreira de Zardil terminara ali.
O julgamento criminal e a investigação, efetuada pela Associação Médica, levaram em conta o passado do médico. A pena de quatro anos de prisão foi suspensa. Mas sua licença foi cassada. Pagou também quase 20 milhões de francos suíços como indenização à família da vítima. Os advogados levaram o resto.
De sua luxuosa clínica em Zurique nada sobrou. O médico ficou reduzido a uma pequena casa em Anderlecht, junto a Bruxelas. Ali fazia algumas cirurgias, com o auxílio de uma velha enfermeira. Geralmente, implantação ou substituição de seios de silicone em travestis que vivem da prostituição nas grandes cidades européias. Estes vinham ao pequeno consultório do médico, onde não se faziam fichas nem perguntas. Cobrava-se pouco e em dinheiro.
Às vezes, o cirurgião fazia uma complexa operação de mudança de sexo.
Mas Zardil sabia ser ainda o melhor de todos – e muitos o sabiam também. Uma vez, fora levado encapuzado até um hospital desconhecido e forçado a operar, com todos os recursos de equipamentos e assepsia, um homem, imediatamente reconhecido por ele como o principal contador da máfia italiana e que, por seus depoimentos, colocara praticamente todos os grandes capos atrás das grades.
O homem saiu da sala de operações com um rosto completamente diferente. A polícia italiana fizera o seqüestro do professor Zardil em sintonia com a polícia belga. Por isso, não era perturbado pelas autoridades em sua pequena clínica.
O cirurgião já não bebia há uma semana, embora a abstinência o incomodasse. Não estava atendendo ninguém. Seu consultório passara por completa esterilização. Equipamentos dos mais sofisticados e instrumentos cirúrgicos haviam chegado em suas embalagens originais.
Aguardava agora um telefonema, que deveria ocorrer esta manhã. A pessoa que o contatara, há aproximadamente dois meses, combinara uma cirurgia de mudança de rosto e de alteração de impressões digitais por microcirurgia. Pagara 100 mil dólares adiantados, depositados em uma antiga conta bancária do doutor Zardil, no Panamá. Prometera mais 400 mil para depois da operação.
Com meio milhão, o professor Zardil se aposentaria. Não mais precisaria ter contato com a ralé do mundo. Voltaria a seu país, onde pretendia morar nos arredores de Kusadasi, uma vila de pescadores às margens do Mediterrâneo. O mar exibia o mais bonito e transparente azul do planeta. A apenas alguns quilômetros a sudoeste das ruínas de Éfeso, onde o templo de Diana havia sido uma das sete maravilhas da Antigüidade e onde, mais tarde, São João escreveria o livro do Apocalipse, Tartuf iria passar o resto de seus dias.
Talvez até parasse de beber. Mas, antes, deveria operar o cliente cujo telefonema esperava com ansiedade.
CAPÍTULO 3
Bernard sentia-se perplexo. Desde a tarde anterior, quando Clarence saíra misteriosamente, o mundo virara de cabeça para baixo. Centenas de confirmações de ordens de compra e venda de ações e de contratos dos mercados futuros chegavam ao escritório, sem que se soubesse quem passara tais ordens. Todas com os códigos seqüenciais de segurança corretos. E, pior ainda, as ordens haviam sido executadas nos pregões das bolsas. Portanto, as operações precisariam ser liquidadas.
A empresa enviava para as bolsas dois tipos de ordens: as de clientes e as da própria corretora. Mas, desta vez, os clientes, em nome dos quais as ordens haviam sido executadas, não existiam. Quanto às ordens da corretora, ninguém sabia quem as havia dado.
A Clarence & Associados não era apenas uma sociedade corretora habilitada a operar nas principais bolsas do mundo. Era também a empresa líder de um enorme conglomerado, compreendendo o Banco Comercial de Manhattan, a cadeia de Lojas Bars, as indústrias Andromeda e Vitalis e a Trans Atlantic Airways, uma das maiores empresas aéreas do mundo, cuja compra, em ousada jogada nas bolsas de valores, havia gerado muita controvérsia.
E das empresas os problemas chegavam aos borbotões, sobrecarregando linhas telefônicas, aparelhos de fax e terminais de computadores.
Desde o final da tarde do dia anterior, a Andromeda, a Vitalis e a central de compras da cadeia de Lojas Bars estavam recebendo matérias-primas e mercadorias desnecessárias.
No Banco Comercial de Manhattan, filas enormes esperavam, do lado de fora, a abertura das agências. Eram pessoas indignadas, com extratos de conta corrente totalmente incompatíveis com seus saldos reais. Outros tinham suas contas correntes e de poupança reduzidas em mais de 90%. Alguns, mais espertos, conseguiram sacar nos caixas automáticos, de funcionamento dia e noite, centenas de dólares cada um, de contas que na véspera estavam quase zeradas.
Nos aeroportos, passageiros chegavam para embarques em vôos da Trans Atlantic já com excesso de lotação, enquanto outros vôos da empresa partiam vazios.
No começo, Bernard acreditara ser tudo um grande engano. Mais tarde, suspeitou de algum tipo de ação criminosa de alguém que, além de tudo, seqüestrara Julius Clarence.
Mas, agora, já decorridas 18 horas do desaparecimento do bilionário, Bernard percebia ter sido tudo obra do próprio Clarence. Além do que, Mohamed Ahsan, o gênio paquistanês em quem Julius centralizara o comando da gigantesca malha de computadores do conglomerado, também desaparecera como que por encanto.
Bernard Davish reuniu-se, por pouco mais de meia hora, com os principais executivos do grupo. Com a concordância de todos, tomou a decisão inevitável. Fechar tudo, apelar para o capítulo 11 da Lei de Falências e pedir uma concordata preventiva, até ser possível averiguar toda a extensão do desastre.
Se, na sede da Clarence & Associados, o clima era de desespero, nas bolsas de valores, de futuros e de mercadorias o ânimo não era muito melhor.
Costumavam as bolsas realizar uma pequena reunião no próprio pregão, todas as manhãs, antes da abertura dos mercados, para o acerto de ordens solteiras da véspera.
Como os negócios nos pregões eram feitos de boca, e anotados às pressas em pequenos blocos, sempre havia um número razoável de operações, executadas no dia anterior, sem a operação correspondente de outra corretora. Compras sem vendas e vice-versa. Lotes e preços divergentes. Eram as ordens solteiras.
Essas discrepâncias, geralmente, eram acertadas sem grandes discussões. Uma e outra corretora levavam um pequeno prejuízo, operadores eram advertidos. Mas sempre os pregões abriam na hora certa. A gigantesca máquina capitalista não podia parar.
Naquela sexta-feira, as sessões haviam sido retardadas. Não havia uma só boleta de ordem executada para clientes da Clarence & Associados ou para a carteira da própria corretora que correspondesse a uma ordem de algum cliente ou a uma decisão de algum dos quase 100 operadores de mercado da empresa.
Já no final do expediente da quinta-feira, o mercado tomara conhecimento do problema surgido com a Clarence & Associados. Muitos operadores não haviam dormido.
Mas a crise não parava aí. O mercado não é composto unicamente pelas bolsas. Existem os negócios realizados por telefone, entre os bancos e as corretoras. As mercadorias também são negociadas fora das bolsas, diretamente entre produtores e consumidores. Finalmente, havia os gigantescos mercados eletrônicos, tão em moda nos últimos anos, onde bilhões de dólares eram negociados através de computadores.
Todos esses mercados são interdependentes, ações, moedas, obrigações, metais, produtos agrícolas, dentro e fora das bolsas, nos telefones e nas redes de computadores.
No início, alguns profissionais sentiram-se satisfeitos com os problemas enfrentados por Clarence & Associados: seria um concorrente a menos. Mas, na manhã daquela sexta-feira, começaram a perceber que, se a Clarence & Associados não liquidasse suas operações, as bolsas não teriam recursos para cobrir os prejuízos.
Como as operações feitas em bolsa eram casadas com os negócios efetuados por telefone no mercado aberto, no mercado de balcão, no mercado de câmbio, nos mercados físicos de mercadorias e nos mercados eletrônicos, um clima de pânico começou a se apoderar de todo o sistema.
Tudo isso era agravado pelas notícias vindas do Extremo Oriente e da Europa. O dólar sofrera violenta queda. O ouro subira mais 20 dólares por onça-troy. O petróleo, mais de um dólar por barril. As bolsas de valores da Europa abriram com atraso e caíram vertiginosamente.
Não foi possível precisar de quem partira a iniciativa de não abrir as bolsas americanas. Isso já ocorrera antes, em bolsas isoladas, quando da ocorrência de furacões, tempestades de neve ou blecautes. Mas, naquela sexta-feira de março, pela primeira vez, as bolsas americanas fecharam suas portas simplesmente por medo de o sistema cair como um castelo de cartas.
Em Washington, na sede do Conselho de Governadores do Banco da Reserva Federal, a atividade era febril. O todo-poderoso chairman, Arnold Sinclair, em contato permanente com os 12 distritos americanos e com os presidentes dos bancos centrais da Europa e do Japão, dirigia pessoalmente as operações. O banco comprava dólares em qualquer quantidade. Adquiria também qualquer lote de obrigações do Tesouro.
O presidente dos Estados Unidos, Michael Dale, cancelara todos os compromissos do dia, com exceção da inadiável audiência ao presidente Rinus Petras, da República da Eslováquia. O chefe de Estado encontrava-se reunido com o secretário do Tesouro, Luc Huston, no Salão Oval da Casa Branca. Exigia ser informado do desenrolar da crise no mercado financeiro, para tomar algum tipo de providência.
O presidente encontrava-se extremamente irritado. Logo ele, que, desde sua posse, havia desgastado boa parte de sua popularidade adotando políticas amargas para diminuir o gigantesco déficit do país, sofria um contratempo desses.
Incomodava o presidente o fato de não estar entendendo muito bem o problema. Sabia apenas que a corretora de Wall Street Clarence & Associados envolvera-se em enorme confusão. Esta era grave o bastante para causar uma seriíssima crise no mercado, anulando seus esforços dos últimos anos para acabar de vez com o problema do déficit, grande ameaça não só para o dólar, como também para a hegemonia da América.
Só uma coisa aliviava tanto o pessoal do mercado como o presidente e demais autoridades de Washington: o fato do dia seguinte ser um sábado. Todos disporiam de dois dias para entender a crise e tomar as medidas necessárias para a normalização dos negócios na próxima segunda-feira.
CAPÍTULO 4
Mar das Antilhas, a leste das Ilhas Virgens. Os primeiros raios de sol da manhã do sábado começaram a iluminar a areia branca e todos os tons de azul e verde das águas límpidas e transparentes. Baía de Saint-Jean, lado norte da ilha de Saint-Barthélemy. As mãos do Todo-poderoso haviam criado aquele santuário de beleza tropical em momento de grande inspiração.
As pequenas ondas, derramando-se em direção à praia, balançavam suavemente os barcos fundeados na enseada. Colinas em forma de ferradura protegiam a praia e a baía. Nas encostas dos morros, por entre a vegetação, se podiam observar várias casas coloridas, meio dissimuladas entre as árvores. Seus privilegiados habitantes desfrutavam da vista deslumbrante, pouco alterada desde que Cristóvão Colombo por ali passara em 1493. O pequeno paraíso tropical de Saint-Barthélemy, Saint-Barth para os moradores, preparava-se preguiçosamente para mais um dia.
Uma das casas situava-se em uma pequena elevação, promontório rochoso que entrava mar adentro interrompendo a graciosa curva da enseada. Abaixo da casa, o cais de pedra brilhava à luz da manhã. No interior da residência, na penumbra fresca do quarto, Valérie ainda dormia profundamente, nua, sobre os lençóis macios.
O sol já estava alto quando ela abriu os olhos e se espreguiçou demoradamente. Levantou-se, enrolou um pano colorido em torno do corpo moreno e foi até a cozinha. Escolheu uma manga na fruteira e, descascando a fruta com os dentes, dirigiu-se ao terraço. Ali deixou-se ficar por algum tempo, sentindo o calor. Começou a pensar na maneira de ocupar seu dia.
Tinha pouco a fazer, a não ser esperar por Julius. Para ficarem juntos. Para realizarem seus sonhos mais caros. Valérie estremecia só de pensar em vê-lo com outra cara e outra identidade. Sabia que Julius Clarence era um nome a ser esquecido para sempre.
Iria reconhecê-lo imediatamente, fosse qual fosse sua nova fisionomia. Mas tinha medo de as coisas não acontecerem como ele prometera. Confiava em Julius. Nunca confiara tanto em uma pessoa. Mas poderia haver algum acidente. A possibilidade a preocupava.
Filha de pai francês e mãe natural do Taiti, Valérie parecia saída de uma tela de Gauguin. Aparentava, no mínimo, cinco anos a menos que seus 31. Os seios empinados, com os bicos ligeiramente voltados para cima, formavam maravilhoso conjunto com as pernas longas e as nádegas rijas. Os olhos azuis contrastavam com a pele morena. Os cabelos negros desciam-lhe quase até a cintura.
Valérie era uma mulher lindíssima. Bastavam apenas alguns segundos para qualquer um perceber isso. Nascera e se criara nas ilhas da Polinésia Francesa, para onde seu pai fora enviado, no final dos anos 50, como agente do Ministério da Saúde da França. O francês era 30 anos mais velho que a bela nativa Ahura, por quem se apaixonara logo ao chegar.
Ao receber da metrópole, cinco anos mais tarde, ordem de transferência para outro lugar, Pierre Toulon pediu demissão, casou-se com Ahura e montou um pequeno restaurante em Papeete. A filha cresceu feliz junto ao mar, brincando pelos recantos da ilha.
O francês jamais poderia esperar ver sua mulher, tão mais jovem, morrer antes dele, devorada por um tumor. Quando Ahura morreu, Toulon fechou o restaurante. Nunca mais foi o mesmo. Tentou viver para a filha. Mas ele, até então um homem forte e saudável, em quem a passagem dos anos deixara poucas marcas, transformou-se num velho frágil. Sua vida apagou-se aos pouquinhos. Valérie sabia que o pai morrera de desgosto, de tristeza, de saudades.
Sofrera muito a morte dos pais. Liquidou a pequena herança e foi conhecer a Paris da qual seu pai tanto falava. Terminou por fazer um curso de aeromoça em uma empresa americana, que procurava comissárias de bordo fluentes no francês. Era a melhor maneira de conhecer o mundo e também um meio de voltar sempre a suas queridas ilhas.
A Trans Atlantic Airways era uma empresa grande, com rotas para todos os continentes. A sede ficava em Miami. De lá, partiam várias linhas. Uma delas, para Paris. Valérie Toulon era presença constante no vôo noturno entre as duas cidades. Foi nessa linha que ela conheceu o magnata dono da companhia aérea, o famoso rei de Wall Street, Julius Clarence.
Na época, os motivos que, mais tarde, levariam Julius Clarence a quebrar o mercado e a desaparecer de circulação já se esboçavam. Nesse dia, Clarence reunira-se em Miami com dirigentes da Trans Atlantic. No dia seguinte deveria estar em Paris para conversar com Clive Maugh, o poderoso diretor do Sindicato.
Valérie deixara de ser a moça provinciana das ilhas dos Mares do Sul. Dois anos em Paris, e centenas de viagens ao redor do mundo, haviam-na transformado em mulher madura. Conciliava o charme de parisiense com a sensualidade primitiva da Polinésia. O contraste fazia dela uma mulher muito atraente.
Houve certa excitação entre os tripulantes quando foram comunicados que o patrão voaria com eles. Seu avião particular sofrera uma pane. Ele decidira pegar o vôo de carreira para Paris. Seu lugar fora marcado, uma hora antes do vôo, na última fila de poltronas da primeira classe, no andar de cima do 747. Área de fumantes. Setor de responsabilidade da comissária Valérie.
Julius gostava de voar na cabine de comando para lembrar-se de seus velhos tempos de piloto. Mas não nessa noite. Pretendia usar o tempo de viagem para dormir.
Não fosse a forte e inesperada turbulência, provavelmente o relacionamento de Julius e Valérie não teria passado de “Boa noite, senhor Clarence” e “Muito obrigado”.
Os pilotos odeiam um fenômeno meteorológico conhecido como Clear Air Turbulence, CAT no jargão dos profissionais. São ventos de alta velocidade, causadores de forte turbulência. Não aparecem nas telas dos radares, como os cúmulos-nimbos e as tempestades de granizo. Por isso, surpreendem os aviadores. Foi o que aconteceu naquela noite, durante o vôo 501 da Trans Atlantic, entre Miami e Paris.
Valérie servia drinques, quando uma corrente de ar descendente pegou o avião de cima para baixo. Os passageiros que estavam sem o cinto de segurança (as luzes de aviso estavam apagadas) tomaram rumo inverso. Foram jogados para cima, alguns quase alcançando o teto. A aeromoça não teve destino diferente. Subiu junto com o carrinho de bebidas. Aterrissou junto a Julius. Ele livrou-se rapidamente do cinto para prestar ajuda.
A turbulência se foi, tão rapidamente como chegara, deixando em seu rastro vários passageiros assustados, alguns com pequenas escoriações. Deixou também o presidente da companhia sentado sobre o tapete do corredor do avião, um dos braços agarrado ao pé da poltrona, o outro envolvendo a cintura da aeromoça. Restou a ambos rir do ridículo da situação.
O incidente e o clima de descontração instaurado a seguir não impediram que Julius se sentisse extremamente atraído pela aeromoça. Atração traduzida em convite para drinques e jantar na noite seguinte, em Paris. Prazerosamente aceito, não tanto por ter partido do presidente e dono da companhia. Também sentira-se atraída por ele.
As reuniões de negócios, enfrentadas por Julius no dia seguinte, não o fizeram esquecer-se de telefonar para Valérie na hora combinada. A tensão do dia foi atenuada pela vodca gelada e, principalmente, pela alegre companhia. O sexo naquela noite seria conseqüência natural.
Mas Julius Clarence não estava preparado para o que aconteceu. Valérie era de novo a nativa da Polinésia, seduzindo o homem, tal como suas antepassadas haviam feito com os primeiros navegadores europeus. Os dois fizeram primeiro sexo, depois amor e sexo. O experiente Julius Clarence chegou a duvidar que realmente estivesse acontecendo.
Os dois continuaram se encontrando. Ora em Paris, ora em Nova York, às vezes em Miami. Sempre em sigilo. Valérie não entendia por que Julius se escondia tanto, já que não era casado. Mas não fazia perguntas.
Agora, entendia o motivo de tanto mistério. Se Julius Clarence fosse abertamente ligado a ela, de nada adiantaria mudar de fisionomia.
Ela não sabia como iria agüentar tantos dias até a chegada do homem de quem não conhecia o rosto nem mesmo o nome.
Para passar o tempo, Valérie Toulon pegou o jipe e foi até o povoado de Gustavia, capital da pequena ilha, comprar peixe.
CAPÍTULO 5
Na mesma manhã de sábado, Servulo completava sua primeira diária no hotel President.
No dia anterior, saíra apenas para uma caminhada de meia hora, para que a camareira pudesse arrumar o quarto, uma vez que não queria despertar nenhum tipo de suspeita. Almoçara e jantara no apartamento.
Passara o dia assistindo à televisão, sintonizada em um canal de TV a cabo que transmitia notícias durante 24 horas. E como tinha havido notícias! A estação dedicou toda a sexta-feira a prestar informações sobre a crise do mercado financeiro.
Servulo acompanhou, atentamente, o noticiário sobre a queda das bolsas de Tóquio e da Europa, e a decisão sobre o fechamento dos mercados americanos.
Percebeu o aumento da movimentação nos estúdios da emissora tão logo foi divulgado que os mercados não abririam.
A primeira versão do noticiário foi a ocorrência de uma pane seriíssima nos sistemas de liquidação das operações feitas na quinta-feira. A pane fora causada por ordens de mercado absurdas, e em volumes muito acima do normal, vindas de Clarence & Associados.
Ao longo do dia, o agravamento da crise foi sendo narrado, passo a passo, pelo canal de TV a cabo. O próprio âncora, John Morley, conduzia, ao vivo, o noticiário, os comentários e as entrevistas.
Clarence conhecia bem Morley, com quem conversava com freqüência. Eram quase amigos. Às vezes, almoçavam ou jantavam juntos. O âncora deveria estar adorando tudo aquilo, pensou Anicetto. Mesmo se estivesse perdendo dinheiro nas bolsas, coisa, aliás, bem provável. Servulo sabia que John tinha, em grau muito elevado, a deformação profissional de todos os jornalistas: o gosto pela notícia importante, mesmo quando se tratasse de uma desgraça ou catástrofe.
Morley conduzia-se com perfeição, como se tivesse ensaiado toda a vida para a condução do noticiário daquele dia. Além dele, todos os profissionais da emissora estavam de plantão nos estúdios: locutores, repórteres, entrevistadores e comentaristas.
Pela manhã, a TV informou que o magnata de Wall Street, o famoso Julius Clarence, desaparecera na tarde de quinta-feira, quando fora visto saindo da garagem de seu escritório em Downtown Manhattan, dirigindo seu próprio carro. Mais tarde, o carro, um Jaguar de série limitada, fora encontrado no estacionamento de um shopping center no bairro de Queens. Do financista, nenhum sinal.
Segundo fontes ligadas ao mercado, a corretora Clarence & Associados, de propriedade de Clarence, enviara às diversas bolsas ordens completamente diferentes das passadas por seus clientes. Compras transformaram-se em vendas e vice-versa. As quantidades de títulos e ações, multiplicadas por 10, 100 e, em alguns casos, até por 1.000.
Os computadores da corretora haviam emitido ordens absurdas. A TV informou que um operador da Bolsa de Toronto recebera uma ordem de venda de um lote de ações de uma ferrovia canadense, superior a todo o capital da ferrovia.
Alguns jornalistas lançavam suspeição sobre o sistema.
– Como os operadores das bolsas não desconfiaram de volumes tão acima do normal? – perguntou, no ar, um comentarista. Ele mesmo apressou-se em responder: – Porque os operadores dos pregões ganham pela quantidade de ações que negociam. O desastre foi causado por pura ganância – acrescentou.
À tarde, a crise agravou-se. Até então, embora houvesse uma conscientização geral da seriedade do problema, quase todos acreditavam que, no final, a Clarence & Associados e seu conglomerado arcariam com todos os prejuízos. Provavelmente, iriam à falência, mas seu enorme patrimônio ressarciria todos os prejudicados.
Finalmente, todos se deram conta da realidade. O desastre atingira o mercado como um todo.
Um veterano operador explicou aos telespectadores que a maioria das decisões sobre as operações nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros emanava de programas de computadores.
À medida que as ordens falsas, emitidas pela Clarence & Associados, eram executadas – dissera o profissional –, as cotações dos diversos mercados subiam ou caíam devido a essas ordens. Os preços, então, mudavam de patamar, fazendo com que os computadores emitissem novas ordens automáticas, baseadas nos novos preços. Desencadeara-se uma reação em cadeia. Não se podia, agora, simplesmente anular as ordens da corretora de Clarence e deixar o resto.
– E as operações de arbitragem? – questionava o operador. – Quando uma cotação sobe em Nova York, alguém em Frankfurt, por exemplo, compra a mesma coisa no mercado alemão, para vender na América. Só havia uma solução – vaticinava. – Descobrir o momento exato no qual, na quinta-feira, as ordens absurdas começaram a ser emitidas e anular todas as operações, de todos os mercados, em todos os países, desde aquele momento.
John Morley entrevistou um famoso advogado. Este excluiu de imediato a hipótese de anulação. Segundo ele, cada país tinha sua legislação. Seria impossível conseguir uma unanimidade de decisões judiciais.
– Além do que, essas decisões levam tempo – sentenciou o entrevistado. E concluiu: – Suponhamos que uma velhinha de New Hampshire tenha, por sorte, vendido suas ações logo no início da crise. Nenhum juiz irá negar à velha senhora o direito de receber seu dinheiro. Alguém deverá pagar os prejuízos, mas, por certo, não serão os investidores.
“Entre os quais, certamente, o próprio advogado”, pensou Servulo em seu quarto de hotel em Bruxelas.
A televisão seguiu entrevistando analistas e operadores. Todos, inclusive os comentaristas da emissora, tinham algo em comum. Estavam extremamente tensos.
O presidente Dale decidira não dar nenhuma declaração à imprensa, pelo menos até conhecer a dimensão da crise e resolver que atitude tomar. Mas acabou se traindo. Durante uma sessão de fotos com o presidente Petras, um jornalista, credenciado junto à Casa Branca, insinuou-se entre os fotógrafos e perguntou:
– Senhor presidente, o senhor vai se omitir neste momento de crise? Não vai dar uma palavra de tranqüilidade aos investidores americanos?
– Os especuladores de Wall Street não perdem por esperar – disse o presidente. E arrependeu-se imediatamente, já antevendo a manchete: PRESIDENTE CULPA WALL STREET PELA CRISE. Logo ele que recebera apoio e votos da comunidade financeira, com seu programa de combate ao déficit.
Instaurada a confusão, a pergunta seguinte veio de um fotógrafo:
– Senhor presidente, sua administração está culpando Wall Street pela crise?
Invertendo totalmente os papéis, o presidente Petras pegou o colega pelo braço e fez um sinal ao chefe do cerimonial da Casa Branca para encerrar a sessão de fotos.
Servulo simpatizava com Dale. Sentiu pena dele ao ver a insólita cena na tela de seu aparelho.
Reação apaixonada veio da líder dos consumidores, Denise Sanford. Entrevistada em seu escritório, em Detroit, a inimiga número um dos industriais, comerciantes e banqueiros da América vociferou:
– Há vários anos venho declarando que os banqueiros deste país se enriquecem à custa dos pequenos poupadores. Estarei atenta para defendê-los até o último centavo. Estou, desde já, aceitando contribuições para cobrir os custos de uma nova campanha, uma verdadeira cruzada contra os exploradores do povo.
O senador por Wisconsin Benjamim Doan, famoso por aderir a todas as causas que rendiam votos, falou de seu gabinete no Capitólio:
– Estou propondo, nesta data, um comitê de investigação do Senado para apurar os acontecimentos. Posso jurar aos investidores da América: os culpados irão apodrecer atrás das grades.
Um líder religioso do Arizona, conhecido por sua enorme legião de fanáticos, cometeu suicídio, culpando o mercado financeiro por seu gesto. Os fiéis não entenderam a drástica atitude de seu messias. A seita pregava pobreza absoluta. Mal tinham roupas para vestir, quanto mais ações e títulos do mercado. Ou seriam verdadeiros os boatos que diziam ser seu líder máximo possuidor de enorme fortuna, à custa da igreja?
Num subúrbio de Moscou, os carcomidos membros do Clube dos Ex-dirigentes do Partido Comunista da antiga União Soviética emitiram comunicado à imprensa. No manifesto, encabeçado pelo centenário Grigory Konstantin, último remanescente da Revolução de Outubro de 1917, anunciaram o começo do fim do capitalismo. Prenunciaram a volta do mais puro marxismo-leninismo. A crise dos mercados era sinal da volta dos velhos tempos. Prova eloqüente do fracasso da economia de mercado.
Outro destaque do noticiário foram as mortes atribuídas à crise. Dois investidores haviam se suicidado. Outros três sofreram ataques cardíacos fatais. Mesmo com as bolsas fechadas. Em furo de reportagem, John Morley conseguiu entrevistar, ao vivo, através do canal de satélite particular da emissora, o ministro das Finanças do Japão, Tetsuo Kubodera. O ministro exigia dos americanos uma solução rápida para a crise. Caso contrário, não poderia evitar uma retirada em massa dos investimentos japoneses na América.
Deitado em sua cama de hotel em Bruxelas, Anicetto sorriu com as declarações de Kubodera. Não só previra essa reação dos japoneses como também uma violenta alta do iene frente ao dólar.
Tudo isso ocorrera na sexta-feira.
Agora, na manhã de sábado, Servulo acordou, tomou uma ducha, comeu o desjejum no quarto e desceu para a recepção. Pagou a conta e saiu à rua. Fez, em sentido contrário, o mesmo percurso da véspera. Voltou à Gare du Nord. Desceu até o subsolo da estação. Foi até o guarda-volumes, usou um canhoto que trouxera consigo de Nova York e retirou uma mala ali depositada por alguém, alguns dias antes. Pagou 700 francos ao funcionário responsável. Dirigiu-se, então, ao banheiro, onde examinou e trocou os conteúdos das duas malas.
Ficou satisfeito com o que viu. Retornou ao guarda-volumes e depositou a valise adquirida no shopping do Queens, dois dias antes, com o conteúdo da mala que estivera guardada na estação.
Encontrou, sem dificuldades, a estação de metrô da gare. Desceu, examinou um mapa afixado na parede e pegou o trem da Linha Verde até De Broucker. Lá fez uma baldeação para a Linha Azul e pegou o trem do ramal 1 B até a estação final de Bizet.
Chegando ao destino, caminhou ainda por meia hora até a clínica clandestina do professor Tartuf Zardil. Tocou a campainha e foi recebido pelo próprio cirurgião.
Nesse momento, Servulo Anicetto deixou de existir. Seus documentos já tinham sido retalhados e jogados no vaso sanitário do hotel. No mesmo vaso, centenas de pedaços, minúsculos, recortados com tesoura, do terno de Julius Clarence haviam sido pacientemente descartados ao longo de todo o dia anterior.
CAPÍTULO 6
Bernard Davish continuava na sede da Clarence & Associados, em Downtown Manhattan. Junto a ele, sentados na sala de estar da suíte particular de Clarence, encontravam-se vários contadores, auditores, advogados e analistas de sistemas, alguns contratados especialmente para o momento de emergência; outros, profissionais do próprio conglomerado. Entre os últimos, o clima era de completo desânimo. Quanto mais discutiam e coletavam informações, mais longe ficavam de uma solução para a crise.
Davish permanecera no escritório desde a noite de quinta-feira. Os luxuosos aposentos da suíte lembravam Clarence em cada detalhe. Ali o magnata passara muitas noites, operando nas bolsas do outro lado do mundo, pois as operações mais importantes exigiam um acompanhamento dos mercados asiáticos, no início da noite, e dos europeus, durante a madrugada. Ali haviam sido comemorados muitos sucessos.
A suíte de Clarence era lendária; poucos podiam gabar-se de havê-la freqüentado e apreciado o Picasso e os dois Joan Miró que enriqueciam suas paredes. Quem ali entrava para almoçar, jantar, tomar um drinque ou, simplesmente, para ter uma conversa mais privada com o bilionário, sentia-se extremamente gratificado, só pelo convite. Poderia, depois, mencionar o encontro, nos círculos financeiros. E tanto Julius como seu principal executivo, Bernard Davish, se aproveitavam desse sentimento de gratificação para fazer excelentes negócios.
Naquela radiante manhã ensolarada de sábado de inverno, a vista das janelas panorâmicas do 81º andar era espetacular, embora nenhum dos participantes da reunião parecesse interessado pela paisagem. Se um deles se encaminhasse a uma das vidraças, veria a Estátua da Liberdade, os navios entrando no estuário do Hudson, a ponte Verrazano e a Staten Island. Se olhasse mais verticalmente para baixo, avistaria o Battery Park e o prédio circular, por tanto tempo usado como centro de triagem dos imigrantes. Entre estes, os antepassados protestantes irlandeses de Bernard Davish e católicos irlandeses de Julius Clarence.
Davish passara toda a sexta-feira administrando os negócios da Clarence & Associados, do Banco Comercial de Manhattan, da cadeia de Lojas Bars, da Andromeda, da Vitalis e da Trans Atlantic.
Sentiu-se aliviado ao saber da paralisação das bolsas e do feriado bancário de emergência, declarado pelo Banco da Reserva Federal.
Decidiu manter as lojas de departamentos abertas, sem, entretanto, fazer encomendas e sem aceitar os cartões de crédito do próprio grupo, pois os limites tinham sido misteriosamente adulterados na Central de Computação. As indústrias continuaram funcionando, sem fazer ou aceitar pedidos. A Trans Atlantic Airways foi totalmente imobilizada, as tripulações voltando às suas bases em aviões de outras empresas.
Durante a sexta-feira, Bernard recebera vários telefonemas urgentes. Atendeu somente os mais importantes. Parecia que todas as pessoas notáveis estavam ligando para ele. Falou com os editores dos principais jornais, atendeu o chairman do Banco da Reserva Federal, Arnold Sinclair, o secretário do Tesouro, Huston, e os principais dirigentes da SEC e da CFTC, órgãos controladores das bolsas e dos mercados. Passou quase uma hora ao telefone com o principal dirigente do FDIC, uma espécie de companhia de seguros, de porte gigantesco, cuja função era garantir o dinheiro dos depositantes na maioria dos bancos dos Estados Unidos. Recebeu também um telefonema irado, e repleto de ameaças, do próprio diretor do FBI, Anthony Angiolillo.
Bernard já chegara a duas conclusões: primeira, a situação era irreversível – o conglomerado de Julius Clarence, um dos mais poderosos da América e do mundo, iria quebrar; segunda, o próprio Clarence era responsável por isso.
Apesar disso, embora atônito com a dimensão da catástrofe, e com todo o acontecido, Bernard não sentia raiva de Julius. Só não conseguia imaginar como ele iria livrar-se dessa. De uma coisa tinha certeza: Julius Clarence não tinha a menor intenção de passar o resto de seus dias na cadeia.
Bernard conhecera Clarence no final dos anos 60, ao sair da universidade e conseguir seu primeiro emprego na Associados, corretora que começava a atrair a atenção do mercado pelos excelentes resultados obtidos.
Foi uma grande oportunidade para o recém-formado ambicioso e de talento. Fez toda a sua carreira no conglomerado liderado pela Clarence & Associados, chegando rapidamente ao segundo lugar da pirâmide.
Sempre houvera uma sólida amizade entre os dois. Bernard gozava da confiança de Clarence. Este o informava de todos os seus negócios. Centenas de vezes haviam-se reunido, após um dia de trabalho, para tomar um drinque, antes no escritório antigo e, nos últimos tempos, na suíte onde, agora, Davish se recordava de tudo, enquanto ouvia a exposição de um contador.
Não fosse o Sindicato a confiança teria permanecido para sempre.
Ao contrário de Clarence, para quem os negócios tinham primazia sobre os sentimentos, Bernard era muito ligado a Lisa, sua mulher, e às duas filhas. Quando o Sindicato se tornou uma ameaça para sua família, embora a contragosto, não teve outra alternativa senão bandear-se para o outro lado, traindo o amigo e patrão. Passara a fazer o jogo do Sindicato.
E, num processo lento e sujo, usando dos plenos poderes das procurações de Clarence, Davish começou a transferir ações, desvirtuar negócios e passar informações, de maneira tal que o Sindicato, sem despertar suspeitas, já possuía um enorme lote de ações e de procurações de pequenos acionistas, suficiente o bastante para assumir o controle do grupo.
Por isso, Bernard não sentia raiva de Clarence. Estava até aliviado, pois sempre tivera certeza de que, um dia, Julius descobriria tudo. Só não conseguia entender aonde o patrão pretendia chegar com as manobras daquela semana.
Um a um, os profissionais fizeram suas exposições, ao final das quais não restava a nenhum deles a menor dúvida: as empresas estavam liquidadas, tal a quantidade de irregularidades cometidas nas últimas 48 horas.
Nos próximos dias, Bernard tomaria as providências necessárias para o encerramento das atividades do conglomerado e liquidação dos ativos para pagar os prejuízos e as inevitáveis indenizações.
Sua grande preocupação era fazer tudo dentro da lei, afastando qualquer possibilidade de vir, um dia, a ser considerado culpado de algum crime e parar na prisão.
Precisaria dar explicações ao Sindicato. Mas ele, Bernard, poderia convencê-los de que não era cúmplice de Julius. Mesmo porque era a mais pura verdade. Davish sabia também que a prioridade do Sindicato iria ser um acerto de contas com Clarence.
Com relação ao próprio futuro, Bernard sentia-se tranqüilo, mesmo sabendo que sua participação acionária no conglomerado não valia mais nada e da possibilidade de a justiça confiscar seus bens pessoais. Possuía reservas muito bem guardadas, em uma conta bancária, secreta e numerada, em Lugano, Suíça. Alguns milhões de dólares, suficientes para lhe garantir confortável aposentadoria junto a Lisa e às meninas.
Davish encerrou a reunião matutina e saiu do escritório para almoçar. Mais tarde, ainda no sábado, voltariam a reunir-se. Foi sozinho. Após o almoço, pretendia fazer uma chamada telefônica para Lugano. Em atenção aos clientes muçulmanos, que guardavam a sexta-feira, o banco mantinha um plantão aos sábados.
Em vez de utilizar seu carro, estacionado no subsolo do prédio, Bernard pegou um táxi. Mandou o motorista seguir para o Village. Vagueou pelas ruas por cerca de meia hora, observando as pessoas, a maioria alheia à crise do mercado.
Escolheu um restaurante espanhol na Rua 7 Oeste. Estendeu uma nota de 20 dólares ao maître. Sentou-se a uma mesa de quatro lugares, nos fundos, perto da cozinha, de costas para as outras, de maneira a não ser visto.
Encomendou uma lagosta com arroz ao açafrão. Degustou um Cardenal Mendonza Non Plus Ultra enquanto aguardava. Estava com fome. Desde o almoço de quinta-feira não comera uma refeição decente. Sentia-se também cada vez mais tranqüilo, como se tivesse tirado um grande peso da consciência. Comeu vagarosamente, bebeu um ótimo Rioja branco e, no final, um café expresso.
Pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu à procura de uma cabine telefônica. Confirmaria o saldo de sua conta secreta. Depois, voltaria ao escritório. Bernard Davish estava disposto a resolver tudo o mais rapidamente possível.
Dentro da cabine discou o código internacional de ligações a cobrar, o número da Suíça, de Lugano e, finalmente, o número do banco. Ao amável funcionário que o atendeu, em inglês, deu o número da conta e o código de acesso composto de 13 algarismos. Disse também a losungswort correta. Tudo confirmado, pediu o saldo da conta.
– Seu saldo, senhor, é de 32.497 dólares – respondeu, solícito, o bancário suíço.
– Tudo bem, este deve ser o saldo em conta corrente. Me informe o saldo de minhas aplicações. – Bernard começou a ficar preocupado.
– Senhor, todos os saldos, juntos, somam 32.497 dólares.
– Poderia me informar se houve alguma retirada nos últimos dias? – A voz de Davish estava quase sumindo.
– Perfeitamente, senhor. No dia 4, quinta-feira, quase todo o dinheiro foi convertido em franco suíço e transferido para uma conta nas Ilhas Cayman. Exatamente 16.400.000 dólares. É um homem de sorte, senhor. De lá para cá, o franco subiu um bocado.
– Deve estar ocorrendo algum engano. Não autorizei nenhuma transferência. – O tom agora era de pânico.
– Bem, senhor. Os códigos estavam corretos. Senão o dinheiro não sairia. Mas o senhor poderá conversar com nosso gerente na segunda-feira. Tudo será esclarecido, estou certo disso.
Bernard Davish não chegou a tomar nenhuma decisão. As coisas aconteceram mecanicamente. Como se programadas há muitos anos. Caminhou em direção à parte baixa de Manhattan, como se fosse voltar a pé ao escritório. Entrou em uma estação do metrô. Comprou o bilhete, desceu as escadas e encaminhou-se para a plataforma.
O primeiro vagão do expresso da 7ª Avenida entrou na estação de Chambers Street em alta velocidade, embora devesse parar no final da plataforma. O maquinista, conforme relatou mais tarde à polícia, mal percebeu o vulto que se jogou à frente do trem quando a cabine de comando saiu da escuridão do túnel.
Os pedaços do corpo de Bernard Davish foram transferidos, com o auxílio de uma pá, para o saco de plástico preto que os levou ao necrotério.
CAPÍTULO 7
Coisa rara, as manchetes dos jornais populares e sensacionalistas se assemelhavam às dos diários mais conceituados. Apesar da diferença no estilo de redação, todas, sem exceção, tratavam da morte por suicídio de Bernard Davish, o segundo homem na cadeia de comando do conglomerado de Julius Clarence.
Enquanto a primeira página do National Enquirer estampava CHEFÃO DE WALL STREET SE JOGA DEBAIXO DO TREM, o Wall Street Journal, em letras de tamanho bem mais discreto, proclamava SUICÍDIO DE BANQUEIRO PODERÁ AGRAVAR A CRISE DO MERCADO.
Os jornais relatavam como o corpo de Bernard fora identificado por seus documentos e por sua roupa. Segundo as pessoas com as quais o executivo estivera reunido durante a manhã, na sede da corretora, ele saíra da reunião apreensivo, mas tranqüilo. De acordo com o relato feito à polícia pelo garçom de um restaurante do Village, o freguês servido por ele aparentemente deixara o local bem disposto, sem a aparência de alguém prestes a se suicidar.
Enquanto os jornais eram lidos em Nova York e no resto da América, na sede da Clarence & Associados técnicos e executivos, exaustos e insones, tentavam chegar a algum tipo de consenso.
Na tarde de sábado, a reunião programada sequer começara, devido à ausência de Davish. Naquele domingo, após algumas poucas horas de tensa e tumultuada reunião, os advogados foram claros: na ausência dos dois principais executivos, nenhuma deliberação tomada naquele encontro teria valor legal.
Ainda pela manhã, todos se retiraram, em pequenos grupos, a maioria tentando evitar a multidão de repórteres que sitiava as saídas do prédio.
As estações de televisão, nos domingos geralmente consagradas aos esportes e programas de auditório, reservaram a maior parte de seu noticiário, tal como na sexta-feira e no sábado, aos assuntos relativos à morte de Bernard e às expectativas gerais com relação à abertura das bolsas na segunda-feira. Mesmo a partida de basquete entre os Ursos de Seattle e os Tubarões de Tampa Bay, há tanto tempo aguardada pelos aficionados, ficou em segundo plano. Os próprios jogadores, entre eles o fantástico Jadit Mahoney, não deram tudo de si, aparentemente mais preocupados com seus investimentos no mercado do que com o andamento do campeonato.
Ao longo do domingo, os profissionais do mercado trabalharam. E como trabalharam. A maioria se reuniu em suas empresas. Outros, em casa, passaram o dia ao telefone. E, ao passar das horas, a expectativa foi crescendo.
Nas sedes dos grandes bancos e corretoras, em Nova York e Chicago, os operadores ligaram seus computadores, estudaram gráficos e analisaram os balanços das principais corporações. Todos queriam saber quem estava envolvido com a Clarence & Associados.
Havia grande expectativa com relação à abertura das bolsas do Extremo Oriente e dos mercados noturnos de Nova York e Chicago.
Nas noites de domingo, assim como nas demais noites da semana, com exceção de sexta-feira e sábado, os mercados americanos de moedas e títulos do Tesouro faziam uma sessão noturna, para coincidir com a hora de maior movimento de negócios em Tóquio, Hong Kong, Sidney e outros importantes centros financeiros do outro lado do mundo.
Em vez de estar com suas mulheres e filhos ou, então, com os olhos grudados nas telas da TV, assistindo a seu esporte preferido, naquela tarde de domingo os mercadores de dinheiro encontravam-se a postos para o início da grande batalha.
Mas os profissionais de mercado não eram os únicos a abrir mão de seu descanso dominical. No quartel-general do FBI, em Washington, o chefão Anthony Angiolillo, Tony Angiolillo, como era chamado pelas costas por seus subordinados, comandava uma reunião com a nata de seus homens.
Debaixo de um enorme retrato do fundador, Edgar J. Hoover, Angiolillo falava pausadamente, com sua voz rouquenha.
– Senhores, a situação é gravíssima. Uma enorme crise está para acontecer nos mercados financeiros e nas bolsas de valores. Essa crise pode ser fruto de ação delituosa de uma ou mais pessoas. Ainda não podemos precisar exatamente quais seriam essas pessoas e, muito menos, os crimes que possam ter cometido. O ponto de partida para nosso trabalho é a localização do senhor Julius Clarence. Os senhores o conhecem de nome e fisionomia. – Molhou com os lábios a ponta de um charuto que acabara de tirar do bolso do paletó.
– No momento – prosseguiu – nem sabemos se o senhor Clarence está vivo e se está no país. Foi visto, pela última vez, saindo de seu escritório, na Liberty Tower, em Wall Street, dirigindo seu próprio carro. Mais tarde, o automóvel, sem qualquer sinal de luta em seu interior, foi encontrado em um estacionamento do Queens, em Nova York.
Angiolillo acendeu o charuto, a despeito da proibição de fumar impressa em cartazes colocados nas duas paredes laterais do salão. Desceu do estrado e começou a passear entre os agentes.
– Os senhores deverão verificar todos os portos e aeroportos, principalmente na Costa Leste, e interrogar o pessoal de serviço nesses locais. Precisamos saber se Julius Clarence saiu dos Estados Unidos. Lembrem-se, o suspeito... bem, o senhor Clarence, pode ter raspado a barba e tingido os cabelos. Lamentavelmente, usa barba desde a juventude. Não temos, portanto, nenhuma fotografia sua com a cara raspada.
– E se o encontrarmos, podemos detê-lo? – perguntou o chefe da região de Nova York.
– Negativo, Jake. Não temos nenhum mandado. Como disse antes, não sabemos, pelo menos oficialmente, nem mesmo se houve algum crime. Mas, se o senhor Clarence for encontrado e perdermos a sua pista, eu próprio me encarrego de cortar os colhões do culpado. E, se for uma das senhoras, eu arranjo alguma outra coisa para cortar.
Outro agente levantou-se, em meio às risadas.
– Mais alguma providência, chefe?
– Sim. Vocês receberão um dossiê. Encontrarão nele o nome, endereço e telefone das pessoas ligadas a Julius Clarence. Quero saber as atividades dele nos últimos meses. Onde esteve, com quem conversou, para onde viajou, com quem fodeu, tudo, tudo. Possivelmente estamos lidando com o mais importante serviço deste bureau em muitos anos. Voltem às suas sedes e convoquem todos os homens necessários, inclusive os de férias ou de licença. O secretário de Justiça e o presidente estarão acompanhando o trabalho dos senhores, tenho certeza disso.
Sarah Jane não costumava trabalhar aos domingos. Como telefonista número um da Casa Branca, servindo o presidente Dale há muitos anos, desde quando era prefeito de San Francisco, Sarah tinha privilégios, entre os quais trabalhar apenas nos dias úteis, como as pessoas normais. Mas, naquele fim de semana, não só estava a postos no comando central dos telefones exclusivos do presidente como mal tinha tempo para comer a pizza pedida ali ao lado, na famosa pizzaria da Avenida Pensilvânia, junto à Casa Branca, cujo aumento de movimento quase sempre coincidia com as grandes crises do governo.
Embora não fosse conhecida do público, Sarah era uma pessoa extraordinária. Trabalhava sem a ajuda de computadores. Bastava ouvir um número de telefone uma vez para lembrar-se dele para sempre. Memorizava a voz das pessoas com quem falava. Se tivesse sido jogadora de xadrez, talvez fosse uma grande mestre, tal sua capacidade de armazenamento de dados.
Tinha um especial talento para localizar as pessoas nos lugares mais difíceis, como quando achou o então prefeito Dale em um motel de Oakland, a tempo de livrá-lo do escândalo que poderia abalar sua carreira política. Era também íntima da família presidencial e, não raro, participava de almoços somente com o presidente e a senhora Dale. Formava, junto com a secretária particular, Anita Chaves, e o motorista, Victor Bukowski, o mais fechado círculo do poder. Dale sabia dever parte do sucesso de sua carreira à telefonista e dizia-o abertamente.
Naquela tarde de domingo, Sarah procurava os principais banqueiros, industriais, comerciantes, os grandes empresários do país. O presidente desejava falar com o maior número possível de pessoas responsáveis pelo controle do dinheiro na América.
Naquele momento, o chefe de Estado falava com o presidente da General Motors, Harry Appleton. Dois outros empresários aguardavam na linha.
Apesar da urgência, Dale, como sempre, começou com as cortesias habituais.
– Appleton, desculpe-me por interromper-lhe o domingo. Se bem me lembro, não nos falamos há muitos meses. Antes de mais nada, como está Amanda?
A tela de computador, à frente do presidente, mostrava que Harry Appleton tinha 67 anos, era casado com Amanda Becker Appleton, possuía um casal de filhos e três netos.
– Está ótima, senhor presidente – respondeu Appleton, envaidecido.
– Quanto ao domingo, com essa crise toda, já está arruinado. Só mesmo um telefonema seu poderia melhorá-lo.
Dale aproveitou a deixa e foi diretamente ao assunto.
– Bem, Harry, este chamado é justamente a propósito da crise. Estou ligando para os principais homens de negócios do país. Minha idéia é simples: todos precisam ajudar o mercado amanhã não só não vendendo ações nas bolsas, mas também as comprando. Minha solicitação, em caráter não oficial, é que a General Motors use suas reservas para comprar suas próprias ações. Essa atitude tem precedente. Ronald Reagan fez isso durante o crash de 1987. Veja bem, Harry, além de ajudar o país, você estará ajudando seu próprio negócio. Estou certo de contar com sua boa vontade e com seu espírito de patriotismo.
– Farei o possível, senhor presidente. A propósito, eu já conversara a esse respeito com meus diretores. Estão, neste momento, reunidos aqui comigo. O único problema são os acionistas. Podem não gostar. Mas, certamente, faremos o melhor possível.
– Conto com isso, Harry. Espero vê-lo em breve. Muito obrigado.
Ao longo do dia, o presidente Dale conversou com os grandes empresários. Conseguiu deles a promessa de, no dia seguinte, fazerem o possível para salvar o mercado de uma tragédia. Mas nenhum deles disse ao presidente que iria aproveitar a oportunidade do esforço de salvação das bolsas para se desfazer rapidamente das ações de suas carteiras particulares.
Em seu gabinete, no Banco da Reserva Federal, o chairman Arnold Sinclair conversava, por telefone, com os presidentes de bancos centrais dos países ricos. Muitos estavam em seus gabinetes. Outros foram localizados em suas casas. Um deles, Alex Burns, do Banco da Reserva da Austrália, foi retirado de uma partida de tênis, na residência de um grande empreiteiro local.
Todos, sem exceção, concordaram em defender o dólar, os títulos do Tesouro americano e segurar a alta do ouro. Atuariam conjuntamente nos diversos mercados a partir daquela noite. Uma intervenção em volume sem precedentes.
Em Pequim, já passava da meia-noite de domingo para segunda quando terminou a reunião dos dirigentes do Banco da China. Embora tivessem sido convidados a participar da intervenção conjunta para defender o dólar, e concordado com isso, acabaram tomando uma decisão completamente diversa.
Os chineses decidiram vender imediatamente, com a maior discrição possível, grande parte de suas reservas de dólares e títulos do governo americano e comprar ouro, iene japonês, marco alemão e petróleo, muito petróleo. Essa decisão baseara-se na recomendação do sábio líder Lin Tsu-Yan.
O venerando estadista, do alto de seus 84 anos, antevia a possibilidade de um crash das bolsas levar a América a uma nova depressão, como a dos anos 30. Se isso acontecesse, prejudicaria as exportações chinesas para os Estados Unidos. Era necessário precaver-se. Felizmente, há alguns anos, vinha fazendo acordos comerciais com o Japão, para que as duas economias dependessem mais uma da outra e menos do pouco confiável mundo ocidental. Os dirigentes do Banco da China confiavam cegamente no velho Lin.
Os ministros do petróleo dos países da OPEP também encontravam-se em frenética atividade. Após três dias de longas conversas entre si, por telefone, chegaram a um consenso. O dólar caíra muito, e tudo apontava para uma queda maior. Seria, portanto, necessário subir o preço em dólares do barril de petróleo. Em uma primeira etapa, de 20 para 22 dólares. Depois, mais.
Alguns ministros, os mais antigos, tinham saudades dos anos 70, quando suas reuniões faziam tremer os dirigentes do planeta. Em seu íntimo, esperavam a volta daqueles dias de glória.
O grande público, nos Estados Unidos, começava a perceber a dimensão do problema.
Em editorial assinado por Bruce Kennyman, Nobel de Economia, o Washington Post proclamava que as ordens erradas emanadas dos computadores da Clarence & Associados não eram a causa da crise. Eram apenas o estopim. As origens poderiam ser encontradas nas últimas quatro décadas, durante as quais os americanos haviam gasto além de suas possibilidades, tomando dinheiro emprestado de investidores de todo o mundo.
“A América devia 5 trilhões”, dizia o editorial. “Bastou um problema sério, imobilizando as bolsas por um dia, para todos se conscientizarem do conto de fadas do mercado de capitais dos Estados Unidos, da jogatina desenfreada dos yuppies de Wall Street e da ficção das especulações dirigidas por computadores.”
Os ministros da Fazenda do Grupo dos Nove, representando três quartos da riqueza do mundo, reuniam-se através de teleconferência via satélite. A engenhoca lhes permitia conversar com os colegas, de seu gabinete, usando um telão dividido em nove quadros, cada um deles mostrando um dos ministros. Tal como os presidentes dos bancos centrais, decidiram adotar ações conjuntas para evitar o caos.
Em Tóquio, outra reunião tomava decisões com relação aos mercados. Os administradores do Fundo de Pensão dos Bombeiros de Tóquio estavam reunidos. Entre bombeiros da ativa, aposentados e seus familiares, o fundo contava com mais de 100 mil membros. A cidade tinha 3 milhões de casas perigosamente inflamáveis, devido às madeiras das divisórias.
Os bombeiros eram altamente qualificados para o combate ao fogo. Gozavam de grande prestígio. Graças a eles, a cidade não fora totalmente destruída no grande ataque de bombas incendiárias efetuado pela aviação americana em março de 1945. Foram também os responsáveis pelo salvamento de milhares de habitantes no grande terremoto de setembro de 1923. São bem remunerados e gozam de excelente plano de aposentadoria, garantido pelo fundo de pensão e seu patrimônio de mais de 1 trilhão de ienes.
Para proteger todo esse dinheiro, os gestores do fundo participavam de tensa reunião.
Não desejavam correr riscos. Após algumas horas de deliberação, decidiram-se pela venda de ações na Bolsa de Nova York no dia seguinte, assim como de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os dólares correspondentes seriam convertidos em ienes, obrigações japonesas, barras de ouro e platina. Pelo menos até os mercados voltarem ao normal.
A maioria dos fundos americanos era administrada por computadores através de programas de negociação. Esses programas tomavam decisões baseadas em análise técnica e matemática das cotações dos diversos mercados.
O sistema era simples. Quando o mercado apresentava uma tendência de alta bem definida, os fundos compravam. Quando a tendência era de baixa, os fundos vendiam a descoberto. “A tendência é sua amiga”, dizia um ditado de Wall Street.
Naquele domingo, quase todos os dirigentes de fundos administrados por computador tiveram a mesma idéia. Foram para seus escritórios e simularam nos programas de suas máquinas uma violenta queda no Índice Dow Jones. Simularam também uma forte baixa do dólar e grande alta no mercado de ouro.
O resultado deixou-os apavorados. Com os esfíncteres soltos, estômagos contraídos e cabeças latejando, iniciaram a angustiante espera da abertura dos mercados.
E os pequenos e médios investidores? Os profissionais liberais, os funcionários do governo, os militares, os aposentados, as viúvas, os artistas, os pequenos comerciantes, as prostitutas, enfim, todos os que contam com seus investimentos para compra da nova casa, troca de carro, viagem de férias, doenças e aposentadoria?
Também haviam lido os jornais e assistido à TV nos últimos três dias. Agora, em suas casas, todos pensavam a mesma coisa. Se a crise era tão séria, como afirmavam os entendidos, melhor seria vender em primeiro lugar.
Já era meio da noite na Europa. O sol se punha na América e nascia no Extremo Oriente. A decisão fora tomada. Os profissionais de mercado, os grandes empresários, os chineses, os magnatas do petróleo, os bombeiros de Tóquio, os administradores de fundos e toda a multidão de pequenos e médios investidores iriam vender ações na abertura dos mercados e tratar de se defender de qualquer maneira.
CAPÍTULO 8
O professor Zardil examinou o recém-chegado e concluiu tratar-se do americano ansiosamente esperado. Conduziu-o imediatamente para dentro.
– Professor Zardil, presumo. – Julius quebrou o silêncio inicial.
– Sim, sou eu. Quanto ao senhor, deve ser... bem... a pessoa que estou aguardando. – O médico ficou embaraçado.
– Meu nome é Julius Clarence. O senhor já ouviu falar a meu respeito, tenho certeza.
– Muitas vezes, senhor Clarence. Principalmente nos últimos dias. Aliás, atualmente, o senhor é o principal assunto da televisão. Quanto ao rosto, está diferente da TV. Certamente andou mudando alguma coisa. Para falar a verdade, me senti bastante curioso com relação à pessoa que queria meus serviços. O senhor deve compreender. Depois de tudo o que aconteceu, não me procuram muito. A não ser uns tipos diferentes. Nada a ver com meus antigos pacientes.
Os dois sentaram-se, frente a frente, em duas pequenas poltronas. Paradoxalmente, Julius estava relaxado e o professor, tenso.
O cômodo era parcamente mobiliado. Apenas um conjunto barato de mesa e cadeiras, as duas poltronas e uma cadeira de balanço, de vime, colocada em frente a um aparelho de televisão. Havia também uma cristaleira e moderna aparelhagem de som, aparentemente a única coisa de algum valor no aposento. Deitado sobre o tapete, um gato siamês dormia sem se perturbar com o estranho. Tudo imaculadamente limpo, inclusive o gato.
– Como já lhe disse, sou Julius Clarence – repetiu o americano, olhando dentro dos olhos do médico. – Achei melhor não escondê-lo do senhor. Nosso negócio, creio que podemos chamá-lo assim, precisa ser feito em confiança. É bem melhor se falarmos francamente desde o início.
– Concordo, também prefiro a franqueza. Não sei fingir e disfarçar muito bem. E já que falou em confiança, tenho perguntado a mim mesmo: por que confiou em mim? – O inglês do professor era carregado nos “erres”.
– Evidentemente, andei investigando. Sei bastante a seu respeito. É o melhor em sua especialidade, ninguém duvida disso. Nenhum outro seria capaz de realizar a cirurgia que necessito. E há mais. Só alguém em sua situação aceitaria correr os riscos inerentes a nossa transação. Não ganharia nada me denunciando às autoridades. Nada! Pelo contrário. Se tudo correr bem, como espero, e eu sair daqui um homem diferente, o senhor terá de volta uma situação financeira invejável e uma velhice sem preocupações. Correspondendo à minha confiança, o senhor tem tudo a ganhar.
Clarence fez uma pausa, estudou a reação do cirurgião. Continuou.
– Quero mudar completamente de fisionomia. Julius Clarence precisa desaparecer. Conto para isso com sua habilidade. Vou também depender de sua discrição. Conforme combinamos, vou pagar-lhe 400 mil dólares, mais os custos do tratamento. Mas não é só isso. A partir do momento em que eu for embora, o senhor receberá, mensalmente, 10 mil dólares, ou o equivalente na moeda que preferir, por toda a vida, que, espero, seja muito longa. Já providenciei tudo em uma instituição de previdência privada do Japão.
Zardil não perdia uma palavra.
– Para nossa segurança mútua – prosseguiu Clarence –, quem acertou os pagamentos foi o governo de um país distante que, aliás, também gosta muito de sigilo e de cumprir acordos. Foi também esse governo que mandou entregar os equipamentos médicos recebidos pelo senhor.
O médico parecia não acreditar no que ouvia.
– Os agentes desse governo – disse o magnata – investigaram muito seu trabalho, professor. O senhor fez um serviço extraordinário para a polícia da Itália, com aquele contador siciliano. Remoçou também em 20 anos o presidente Juan Perón, da Argentina. E mesmo quando alguns militares argentinos lhe ofereceram dinheiro e, mais tarde, fizeram ameaças, não obtiveram as fotografias de antes e depois da operação. O senhor é a pessoa indicada para meu caso. Se tem hábitos menos moderados, isto não me diz respeito. A não ser enquanto eu estiver a seus cuidados, bem entendido.
Pela primeira vez, depois de anos, Zardil sentiu-se exultante. Se não gostou da discreta referência à bebida, não o deixou transparecer. Olhou para o americano, pensou um pouco sobre o que ouvira e perguntou, controlando a excitação:
– Que tipo de cirurgia tem em mente, senhor Clarence? Pelo equipamento enviado, não deve ser coisa simples.
– Não é, professor. Se me levar até onde está a aparelhagem, explicarei melhor.
O médico conduziu Clarence por um corredor pouco iluminado. Chegaram a outra sala, maior, cheia de caixotes. Uns já estavam abertos. Outros ainda se encontravam lacrados em suas embalagens de fábrica.
– Já viu o monitor eletrocardiográfico? – perguntou Julius.
– Vi, sim, e confesso nunca ter visto nada parecido. Li o manual e fiquei impressionado. O aparelho registra os batimentos cardíacos e os interpreta. Adiciona automaticamente ao soro fisiológico os medicamentos necessários para manutenção da freqüência ideal. Parece ter sido fabricado especialmente para um cirurgião operar sozinho, sem o auxílio de anestesista e enfermeiros. É esta máquina aqui nos fundos. Mas qual a relação do monitor com as modificações em sua aparência?
– Se tiver a bondade de retirar a placa existente na parte de trás do aparelho, encontrará um disco de CD-ROM. Contém os dados referentes a minha nova fisionomia. Basta digitar a palavra-chave: “Mississippi”.
O médico retirou a placa e localizou o disco. Dirigiram-se ao consultório, no andar superior. Zardil ligou o computador, inseriu o disco, entrou no diretório correto e digitou “Mississippi”. Levou algum tempo para entender-se com o programa. Tão logo o conseguiu, começaram a surgir na tela, a seu comando, fotos da face, da cabeça e do corpo inteiro de um homem nu. Clarence observava curioso. O médico concentrava-se no trabalho. Localizou tabelas e dados anatômicos sobre o homem em questão. Após algum tempo, declarou, aparentemente desolado, sem, no entanto, demonstrar insegurança:
– Este homem é completamente diferente do senhor.
– Tem a minha altura, o meu peso e a minha envergadura. – Clarence foi incisivo.
– Posso estar sendo precipitado. – Zardil tentava colocar as idéias em ordem. – Preciso estudar tudo com calma e atenção. Mas devo alertá-lo sobre duas coisas: primeiro, nunca um cirurgião plástico conseguiu transformar um homem em outro; segundo, além da altura, do peso e da envergadura, existem dezenas de medidas e dados que precisam ser compatíveis. Terei que examiná-lo também. Terei todas as respostas até o final de amanhã.
Os dois passaram o restante do sábado, e todo o dia de domingo, no andar de cima da modesta clínica. Havia uma sala com uma escrivaninha, duas cadeiras, uma maca, um arquivo e o computador. Ao lado, um quarto com duas camas de hospital. Nos fundos, uma pequena sala de cirurgia.
O professor tirou várias fotografias de Clarence e, através de um scanner, as inseriu no computador. Confrontou-as com as fotos contidas no disco. Depois, colheu diversos dados diretamente no rosto e no corpo de Julius. Armazenou tudo na memória do aparelho.
Julius observava interessado. Sempre gostara de ver um bom profissional trabalhando. O médico consultava fichas do arquivo e vários livros. Trabalhava sem pressa, em silêncio. De vez em quando dividia a tela em duas, colocando, de um lado, Clarence e, do outro, o rosto contido no disco. Julius percebeu que, como todo bom cirurgião, o professor Tartuf Zardil estava se apaixonando pelo desafio científico a sua frente.
Nos intervalos para almoço e jantar, o professor fazia a comida dos dois. Comiam na própria cozinha. O médico não falava sobre o caso e Clarence não perguntava. Conversavam sobre história, arte, literatura. Julius começou a gostar do cirurgião.
No final da tarde de domingo, finalmente, o doutor Zardil fechou livros e arquivos, cruzou as mãos por cima da escrivaninha e falou:
– É impressionante, senhor Clarence. Se eu fosse encarregado de escolher uma fisionomia para o senhor, não conseguiria uma melhor. Quem a selecionou conhece o assunto e estudou profundamente o caso. Todos os dados são compatíveis. Aparentemente, não existe nenhuma semelhança entre os dois. Mas, na verdade, parecem moldados na mesma forma. É um grande desafio fazer tudo sem ajuda, mas posso conseguir. Nas cirurgias plásticas, é necessária a presença de um assistente, no mínimo para afastar a pele e o couro cabeludo. Terei que adaptar um afastador para isso. Mas será preciso chamar uma pessoa de minha confiança para cozinhar. Ela não virá aqui em cima. Portanto, farei a assepsia e a limpeza sozinho. Isso irá atrasar o trabalho. Mas já estou acostumado a ser meu próprio assistente.
E após uma pequena pausa, movido pela curiosidade, perguntou:
– E o homem da foto, o que aconteceu com ele?
– Está morto, professor. Um acidente, do outro lado do mundo. Não deixou esposa, filhos ou qualquer parente. Certamente, gostaria de saber que vai ressuscitar – disse Clarence, sorrindo então, um sorriso sugestivo, confiante.
O professor Tartuf Zardil permaneceu em silêncio durante alguns instantes, pensando no homem morto num país distante. Imaginou o corpo debaixo da terra, a fisionomia decomposta pela ação do tempo e dos vermes. Iria conseguir.
– O senhor me apresentou um grande desafio, mas posso fazê-lo. Certamente terei sucesso. Preciso de sua cooperação e coragem. O senhor sentirá dores e passará por grande sacrifício. Está mesmo disposto, senhor Clarence? – perguntou, já sabendo a resposta. Aquele homem, que já admirava, tinha profunda certeza do que queria.
– Tomei uma decisão sem volta e nunca imaginei que seria fácil. Considero-a um fato consumado. Mas os detalhes me intrigam. Podemos falar sobre eles agora? – Clarence não demonstrava qualquer emoção diferente, apenas curiosidade.
– Bem, vamos lá. Tentarei explicar, de maneira simples, como ressuscitarei nosso amigo. Começando pela cor da pele, injetarei um tipo de hormônio para ficar bronzeada. Será preciso que o senhor tome esse hormônio regularmente, por toda a vida, para manter a cor. Para criar a calvície destruirei o folículo piloso em uma região do couro cabeludo. O nariz será fácil. Diminuirei as cartilagens alares e cortarei um pouco da pirâmide nasal. Para afastar as sobrancelhas, usarei uma espécie de caneta e cauterizarei os folículos, ao centro. As orelhas serão mudadas facilmente. Retirarei uma fatia da cartilagem conchal e outra da pele para fazê-las mais fechadas. Mas dê a volta e veja diretamente no computador.
Julius rodeou a mesa e viu o monitor do aparelho. A fisionomia iluminada na tela era a sua, tal como estava agora, sem barba.
A um comando do médico, os traços na tela começaram a se modificar. Duas entradas de calvície foram aparecendo lentamente, a curvatura superior do nariz tornou-se mais côncava à altura dos olhos, as sobrancelhas se afastaram. Finalmente, as orelhas se fecharam um pouco, algo quase imperceptível, mas que alterava sensivelmente as feições. A pele tornou-se ligeiramente bronzeada. Quando a animação terminou, na tela, em lugar da fisionomia de Julius Clarence, encontrava-se a imagem inicial contida no disco de CD-ROM. Enquanto o programa se desenvolvia, Zardil explicava tudo, buscando palavras compreensíveis e diretas.
– Nas faces, colocarei um material sintético sobre o osso malar. Será fixado por um fio de aço. As bochechas ficarão maiores. Depois usarei um truque da profissão. Colocarei material aloplástico por dentro do lábio superior. Os dentes aparecerão um pouco mais. O efeito visual é o mesmo que ocorreria se eu substituísse sua dentadura pela do... bem, do morto.
Clarence estava fascinado. O médico prosseguiu.
– Não sei se reparou, mas o modelo, é melhor chamá-lo assim, tem uma cicatriz de apendicectomia. Isso é fácil. Faço uma incisão com o bisturi e suturo em seguida. O colega não se preocupou muito com a estética, mas levarei apenas 15 ou 20 minutos para fazer uma cópia idêntica. Mas sente-se, por favor, vou explicar o resto.
Julius voltou a sua cadeira.
– Sugiro a mudança de voz – continuou o cirurgião. – Lesarei um dos nervos laringo-recorrentes. O senhor terá uma voz mais rouca. Não sei se sabe, a voz de cada pessoa é como as impressões digitais. Quando registrada em oscilógrafos, cada uma tem um padrão distinto da outra. Com minha intervenção, sua voz ficará diferente. O gráfico desenhado pelo oscilógrafo também. De maneira definitiva.
Clarence aproveitou a explicação para perguntar.
– Desculpe interromper, mas gostaria de saber das impressões digitais.
– Certo, certo. Foi isso o que mais me impressionou no dossiê. Pouquíssimas impressões digitais são compatíveis com outras, mesmo quando transformadas com ácido. Quem escolheu nosso homem tinha conhecimento de datiloscopia. Tanto os arcos como as presilhas internas e externas e os verticilos são compatíveis. Com um pouquinho de ácido, e usando o método Lecha Marzo, farei a transformação. Quando cicatrizar, suas impressões digitais ficarão idênticas às do modelo.
– Então a coisa não será muito complicada. – Clarence começava a ficar eufórico.
– Não disse isso. Além do que, estou deixando o mais difícil para o final. Trata-se da mudança da cor dos olhos. Será preciso fazer uma incisão, nos moldes das operações de catarata, e colocar uma lente dentro do olho. Me desculpe a imodéstia, senhor Clarence, mas sou o único cirurgião plástico no mundo que pode fazê-lo. Vinha desenvolvendo um trabalho sobre isso com cobaias quando... bem, quando minha carreira foi interrompida. Mas não se preocupe, senhor Clarence, os testes já estavam em estágio avançado. O resultado será excelente e... surpreendente. Com certeza.
– Ótimo, professor. E quando começamos?
– Amanhã cedo, se não se importa.
– E já é possível uma previsão de quando terei alta?
– Daqui a uma semana retirarei os pontos e o senhor estará novo em folha. Haverá apenas um pequeno curativo na ponta dos dedos. A maioria dos pontos cirúrgicos será interna. O organismo os absorverá.
Conversaram mais um pouco. Clarence dirigiu-se ao quarto, ao lado do consultório. Olhou-se demoradamente no espelho, despedindo-se do rosto com o qual convivera tão bem por mais de meio século.
Desceu ao andar inferior e ficou ouvindo música com o professor Zardil. O cirurgião ouvia Wagner, juntando no ar os dedos indicador e polegar, como se segurasse uma batuta e regesse uma sinfônica imaginária.
Clarence despediu-se do médico e voltou ao quarto. Evitou, desta vez, o espelho. Deitou-se na cama. Para não pensar demais no dia seguinte, começou a lembrar-se do passado. De um momento, há mais de 40 anos, quando tinha 15 anos.
Pela primeira vez, desde a sua saída do escritório em Manhattan, se emocionou.
SEGUNDA
PARTE
CAPÍTULO 9
Todos estavam reunidos junto ao grande rio, assistindo ao final do 4 de Julho. A cidade inteira de Davenport via o espetáculo de fogos de artifício. Mesmo aqueles que haviam bebido demais durante os festejos do dia encontravam-se agora bem despertos, vendo o show. Até as crianças pequenas permaneciam acordadas. Os olhinhos arregalados fitavam os rojões que subiam de Rock Island, do outro lado do rio, no estado de Illinois, e explodiam em milhares de faíscas multicoloridas. Bolas de fogo desciam lentamente, até apagar-se nas águas do Mississippi.
As comemorações duraram todo o dia. De manhã, a parada entusiasmara a multidão. Os fazendeiros dos arredores vieram em massa, com suas famílias, assistir ao desfile comemorativo. À frente do cortejo, a banda da Saint Ambrose, precedida das melhores balizas da margem oeste do Mississippi. Desfilaram os estudantes de Davenport e das escolas da zona rural. Mas o apogeu do desfile, levando a multidão ao delírio, ficou por conta da passagem dos veteranos da Segunda Guerra, ainda jovens, na casa dos 30 anos.
A cidade observou, emocionada, um minuto de silêncio pelos mais de 100 rapazes do condado que haviam dado suas vidas pela América. Alguns encontravam-se sepultados no Cemitério Nacional de Arlington; outros, no cemitério da cidade. Muitos tinham simplesmente desaparecido nos campos de batalha da Europa e das ilhas do Pacífico, ou repousavam, para sempre, no fundo dos oceanos.
Depois do almoço, todos participaram ou assistiram aos jogos e brincadeiras. Muitos habitantes de Rock Island, Moline e East Moline haviam cruzado a ponte para assistir à festa de Davenport.
No leilão beneficente de tortas, a disputa acirrada teve como vencedora, mais uma vez, a senhora Dundee. Sua torta de cereja foi arrematada por 15 dólares. Por um advogado, cuja carreira dependia muito das decisões do juiz Osborne Dundee. Tab, o rapaz mais velho dos Clines, não por coincidência o soldado mais condecorado de todo o estado de Iowa, vencera a competição de tiro ao alvo.
Agora, as pessoas sentavam-se à beira do rio, aproveitando a brisa noturna e assistindo à queima de fogos. Cada espoucar era saudado com exclamações de assombro. Sem dúvida, mesmo entre os mais velhos cidadãos das Quad Cities, ninguém se lembrava de uma comemoração melhor da Independência.
Muitos eram os motivos para tanta alegria. Dez anos já se tinham passado desde o fim da Segunda Grande Guerra. A região prosperava com velocidade nunca vista desde os anos 20. Com o preço dos grãos em alta, ganhava-se muito dinheiro por ali, tanto os fazendeiros como os comerciantes da cidade. Carros novos, grandes, coloridos engarrafavam as ruas. As donas-de-casa compravam as últimas novidades em eletrodomésticos estampadas nos catálogos da Sears Roebuck.
A Europa libertada reconstruía-se, as pessoas de lá precisavam comer. E quem melhor para produzir os grãos tão necessitados pelos europeus do que o Meio-Oeste, o Cinturão do Milho, o celeiro do mundo? Por isso, todos tinham uma razão a mais para comemorar a festa.
Longe do movimento, o pequeno escritório de um armazém de cereais da avenida Utah mantinha as luzes acesas, contrastando com o restante do comércio, fechado por causa do feriado. Lá, sentado a uma escrivaninha, o jovem Julius Clarence consultava mapas, livros e fazia contas. Anotava tudo em um caderno ao lado.
Encontrava-se ali desde a manhã. Agora, já estava por terminar a tarefa pela qual tinha deixado de ir à festa. Suas conclusões o deixavam excitado. Excitado e satisfeito.
Os pais de Clarence, Bruce e Margaret, católicos irlandeses, haviam emigrado para a América nos anos 20, ainda crianças. Conheceram-se no próprio navio. Os pais de Margaret vieram cultivar as terras férteis e baratas do Oeste do Mississippi. Os de Bruce se estabeleceram em Davenport, dedicando-se ao comércio, assim como seus antepassados o faziam, no Ulster, há mais de um século.
Os ancestrais de Margaret, os Kimberleys, eram da região de Dungannon, onde cultivavam batata. Tanto os Clarences como os Kimberleys haviam chegado ao Meio-Oeste atraídos por notícias vindas do Novo Mundo, dando conta da fartura de terra e da prosperidade dos que haviam emigrado para lá.
Muitos católicos irlandeses vieram para a região fugindo à perseguição das autoridades inglesas, após o levante da Páscoa de 1916. Juntaram-se às dezenas de milhares de famílias que haviam deixado a Irlanda, muitas décadas atrás, fugindo da grande fome do século XIX.
Junto com os pais de Clarence, vieram os MacLeods, os Connors, os O’Garveys, os Walbys, os Lynchs e muitas outras famílias. Ainda comemoravam a Festa de São Patrício, bebiam o forte uísque irlandês e cultivavam um pouco de batata. Mas eram americanos, bons americanos, e se orgulhavam disso.
O armazém dos Clarences era o ponto de encontro dos fazendeiros irlandeses. Lá compravam as sementes, os adubos e as ferramentas necessárias aos trabalhos do campo. Bruce Clarence também comercializava a safra. Por uma pequena participação nos lucros, vendia a produção de todos, aumentando o poder de barganha.
As terras dos irlandeses situavam-se no lado leste do estado de Iowa, junto à grande curva do Mississippi, entre a Prairie du Chien, ao norte, e Fort Madison, ao sul. A imensidão da planície lembrava pouco a velha Irlanda. Dois ou três séculos atrás, por ali pastavam grandes manadas de búfalos, na época em que a região fazia parte do território da grande nação dos índios iowa e illinois.
Mais tarde vieram os europeus, entre eles os irlandeses. Estes cultivavam principalmente o milho e a soja, planta nativa da China e do Japão e que tão bem se adaptara ao Meio-Oeste.
Durante o inclemente inverno, quando o vento gelado, soprando dos Grandes Lagos, varria as pradarias, eles pouco faziam. O trabalho começava na primavera, quando era feito o plantio. No verão, as lavouras se desenvolviam. No outono fazia-se a colheita, agora com as grandes colheitadeiras, fabricadas depois da guerra. Em outubro, os grãos já estavam colhidos e abarrotavam os silos da região.
Por ocasião da venda da soja e dos outros cereais, a negociação com os atacadistas de Chicago era feita por Bruce Clarence. Não havia comprador de grãos, por mais ladino que fosse, capaz de lhe passar a perna.
A comunidade confiava nele. Ninguém conferia nada. O determinado por ele era o preço do negócio. O sistema de vida dos irlandeses da região baseava-se na confiança e na solidariedade. Quando ocorria um incêndio em um celeiro, uma doença atacava as lavouras de uma das fazendas, uma plantação era inundada pelo rio, Bruce desviava parte da produção dos outros fazendeiros para socorrer o produtor desafortunado.
As coisas funcionavam assim. E funcionavam bem.
Desde os 10 anos, Julius ajudava o pai. Principalmente nas contas, na distribuição das cotas, no cálculo do preço. O garoto conhecia mais de preço de soja que muitos atacadistas veteranos. Sabia de cor as cotações da Bolsa de Chicago.
Naquela noite de 4 de Julho, enquanto todos assistiam aos fogos à beira do rio, Julius acabara de fazer suas contas. Durante as duas últimas semanas visitara as fazendas, medindo a altura dos pés de soja, verificando o tamanho das vagens, checando o nível de umidade do solo. Agora, estava convicto: a safra seria ruim; a produtividade, muito baixa. Não só nas fazendas dos clientes de seu pai, mas nas outras também.
Chegara a essas conclusões depois de um dia inteiro de trabalho. Refizera os cálculos inúmeras vezes. O nível de umidade do solo estava baixo. O número de bushels produzidos por acre seria inferior ao habitual. O preço subiria. Principalmente se não chovesse nas próximas semanas, quando deveria ocorrer a polinização. E não havia previsão de chuvas. O preço poderia disparar. Quem vendesse agora perderia muito dinheiro, pois a safra seria pequena.
O garoto pretendia, no dia seguinte, mostrar suas contas ao pai. Gostaria também de exibir suas conclusões na reunião, no final da tarde, ali mesmo no armazém, entre o pai e os produtores. Esse encontro ocorria todos os anos. Costumava prosseguir noite adentro. Nele, Bruce Clarence combinava com os fazendeiros a melhor maneira de comercializar a safra.
CAPÍTULO 10
O comerciante ficou impressionado. Embora, há alguns anos, confiasse nos cálculos do filho, não o imaginava com capacidade de fazer estudos tão detalhados e chegar a conclusões tão coerentes. A amostragem das pesquisas estava perfeita e as contas, exatas. O garoto tinha razão. Nenhum pesquisador de campo do Departamento de Agricultura teria feito melhor. O preço da soja iria subir. Bruce Clarence sentia-se aliviado por saber disso antes da reunião com os produtores e, principalmente, antes de iniciar as conversações com os atacadistas de Chicago.
O que o deixava desconfortável era o fato de o menino querer uma participação nos negócios. Isso não era normal. Não em um rapaz daquela idade, de quem se espera que ajude o pai a troco de nada, apenas para aprender. Mas respeitava a pretensão do garoto. Iria expô-la aos produtores, embora não se sentisse à vontade para isso. Em todo caso, Julius pleiteava para si 5% sobre o que passasse de 3 dólares e 50 centavos. E esse preço nunca havia sido alcançado. Nem nas duas grandes guerras nem na grande seca dos anos 30.
A reunião começou, como sempre, em ambiente de alegria e algazarra. Aos poucos, todos se acomodaram. Alguns sentados sobre sacos de milho e de soja; outros encostados nas paredes. Eram mais de 50. Um a um, falaram das condições de cada plantação, da altura dos pés de soja, do tamanho das vagens. À medida que faziam suas exposições, percebeu-se que as coisas não iam bem. As plantações não se desenvolviam a contento. Mas nada de assustar. As chuvas ocorreriam a qualquer momento. O importante era chover em agosto, quando a soja precisa de muita água. E encontravam-se ainda no início de julho.
Depois que todos falaram, Bruce pediu a palavra.
– Meus amigos, como sempre, tenho o maior prazer em ver todos aqui. A gente se vê o ano inteiro, mas é raro reunir todo mundo. Tenho um assunto importante desta vez.
A platéia silenciou, interessada.
– Como sabem – continuou Bruce –, todos os anos eu negocio, com os compradores de Chicago, a soja produzida por vocês. Tenho minha participação no negócio e, até agora, ninguém reclamou de nosso sistema. Meu garoto, o Julius, todo mundo aqui conhece o Julius, me ajuda nas contas.
As cabeças viraram-se para o rapaz, de pé, ao fundo. Alguns sorriram simpaticamente para ele. O pai prosseguiu.
– Nos últimos anos temos conseguido vender nossa soja melhor que a maioria dos fazendeiros. – Houve um murmúrio de concordância. – Devemos isso ao Julius. Ele analisa as lavouras em toda a região. Acompanha os preços da Bolsa de Chicago e tem boa intuição para descobrir a melhor hora de vender. Por isso, graças ao bom Deus, e à ajuda do garoto, tenho conseguido fazer negócios melhores a cada ano.
– Desembucha logo – gritou Liam Connor, cuja maior virtude não era a paciência.
– Calma, Liam, o assunto é importante, deixem eu explicar melhor. Tenham um pouco de paciência. Cada um de vocês já mostrou como está indo a lavoura. Já deu para ver que as coisas não estão bem. Outros fazendeiros também estão com problemas. E não é só no Leste de Iowa. Julius checou isso. Mas é melhor ele mesmo explicar.
Todos se voltaram novamente para Julius Clarence. Este, com desenvoltura incomum para um rapaz de sua idade, foi para a frente e sentou-se sobre o balcão ao qual o pai se encostava. Ficou, assim, em um nível superior aos demais. Como seria de seu feitio por toda a vida, foi direto ao assunto.
– Senhores, o tempo não está ajudando, não está bom para a soja. Deu para notar isso quando cada um falou de sua lavoura. Do outro lado do rio está tudo igual, em Illinois, Wisconsin e Indiana. Do lado de cá, a situação é a mesma. Em todo o estado de Iowa, em Minnesota e no Missouri. Mesmo as lavouras de trigo, lá no Oeste, no Kansas e em Nebrasca, estão indo mal, o trigo não se desenvolve.
– Como sabe tudo isso? – perguntou Ian Walby, a voz desconfiada.
– Aqui no Leste de Iowa e no Oeste de Illinois, do outro lado do rio, fui ver as coisas pessoalmente. Dos outros lugares, ouvi as notícias no rádio. Telefono todos os dias para o Departamento de Agricultura. Eles estão preocupados com as plantações, mas contam com as chuvas. Mas, em minha opinião, vai chover muito pouco no restante do verão. Talvez não chova quase nada mesmo.
Um alvoroço seguiu-se à última afirmação de Julius Clarence. Todos falavam ao mesmo tempo. O pai elevou-se para o mesmo nível do filho e golpeou o balcão com força, com as mãos espalmadas. Fez-se silêncio novamente. Bruce pediu:
– Deixem ele terminar, por favor!
Então, Julius apresentou seus estudos. Mostrou a evolução das plantações de soja em todo o Meio-Oeste. Fez uma analogia com outros anos, quando um padrão muito chuvoso na primavera foi seguido por um verão quente e seco. O fenômeno ocorria mais uma vez.
Quando terminou de falar, virou-se para o pai, devolvendo-lhe a palavra. Desceu do balcão e voltou lá para trás, onde estava inicialmente. Bruce reassumiu.
– Se continuam confiando em mim, como sempre fizeram, não devem vender nada agora. Todos os anos, nesta época, eu negocio a soja de vocês para entrega futura, para evitar vender na época da colheita, quando todo mundo entra vendendo. Este ano, acho melhor fazer de outro jeito. Deixar tudo para o final do outono, quando os preços vão subir, como disse o meu rapaz, o Julius. Acho que a quebra da safra vai ser grande, mas será compensada por preços melhores. Isto é, se a gente tiver paciência e sangue-frio para esperar.
A audiência estava pensativa, temerosa. A maioria acreditando. Já há muitos anos, Bruce Clarence negociava por eles. O comerciante passou, então, a falar do assunto que o constrangia.
– Como vocês sabem, todos os anos, eu, em troca da comercialização da soja, cobro uma comissão de 1% sobre o preço bruto de venda. Com isso, cubro minhas despesas e ainda fico com um pequeno lucro, do qual nada tenho para me queixar. Este ano, em troca de seus estudos e de seu trabalho, Julius quer para ele uma comissão de 5% sobre o que ultrapassar 3 dólares e 50 centavos por bushel.
Bruce, mal terminou a frase, foi atropelado pelos protestos. Todos falavam, indignados, ao mesmo tempo. Alguns dirigiam-se ao pai. Outros, ao filho, impassível, ao fundo.
Desta vez, Bruce ficou de pé sobre o balcão, o corpo paralelo a um ancinho pendente do teto. Bateu com os pés na madeira. Mais uma vez fez-se silêncio. O comerciante berrou:
– Ninguém precisa aceitar nada. Se não gostaram da proposta, tudo bem. Farei os negócios, como sempre faço, cobrando a comissão habitual; não vou ficar aborrecido e não se fala mais nisso. Mas eu tinha a obrigação de apresentar a proposta do menino, já que ele trabalhou tanto. Para facilitar as coisas, enquanto discutem se aceitam ou não, vou sair do armazém por meia hora. Julius vai comigo. Quando voltar, quero saber a decisão de vocês.
Depois que pai e filho se retiraram, a discussão extremou-se. Os Clarences estavam sendo gananciosos, diziam uns. Explorando uma situação de desgraça. Para outros, pior seria se o menino mostrasse seus estudos aos demais produtores e todos deixassem para vender a soja no outono.
Prevaleceu a sabedoria do velho Roger O’Neill. Sua lógica extinguiu todas as dúvidas.
– Ele está pedindo 5% apenas sobre o que passar de 3 dólares e 50 centavos – argumentou O’Neill. – Ora, todos sabemos, mesmo nas piores safras, a soja nunca chegou tão alto. Provavelmente, não vai chegar agora. E se chegar? Vamos receber 95% do que ultrapassar 3,50. Acho justa a proposta. Se o garoto ficar rico com ela, embora mal tenha saído das fraldas, ninguém vai poder se queixar de nada. Alguém vá lá fora chamá-los. Vamos acabar logo com isso. Precisaremos de muito trabalho no campo para evitar o pior.
CAPÍTULO 11
Poucas pessoas, além de Julius Clarence e de alguns espertos especuladores da Bolsa de Chicago, conseguiram prever a seca daquele ano. No quadrilátero entre os Grandes Lagos, ao norte, os montes Apalaches, a leste, os campos de Oklahoma, ao sul, e as montanhas Rochosas, a oeste, foram registrados os menores índices pluviométricos desde que os índices começaram a ser medidos.
Nos normalmente férteis campos de Iowa, Illinois, Indiana e Missouri, as plantações simplesmente não se desenvolviam. Os fazendeiros olhavam desolados para as vagens secas e esturricadas, procurando ao longe, no horizonte, alguma nuvem anunciando a chuva. Mas esta não chegava. Devido à primavera chuvosa, as raízes das plantas haviam se aprofundado pouco no solo. Não conseguiam, agora, absorver o pouco de umidade existente embaixo da terra.
Se não havia chuva, pior era o calor. Temperaturas só atingidas no Dust Bowl em 1934 eram registradas todos os dias. As nuvens de pó escondiam a paisagem desolada. A água foi racionada em Minneapolis, Saint Paul, Omaha, Kansas City e Saint Louis. As pessoas ficavam em casa, deitadas junto ao ventilador, sem ânimo para o trabalho. Em Chicago, à noite, a população levava suas cadeiras para as ruas, tentando refrescar-se com a brisa vinda do lago Michigan.
Os fazendeiros sofreram sérios prejuízos. Em muitos lugares, já se previa uma produtividade abaixo de 50% da normal. Alguns já tinham vendido sua soja para entrega futura pelos baixos preços da primavera. Não teriam agora produção suficiente para entrega. Os bancos já acionavam seus advogados para tomar as terras daqueles a quem haviam financiado tratores, sementes e fertilizantes. A situação era de desespero. Muita gente iria quebrar. Terras há muitas gerações em mãos de uma mesma família iriam mudar de mãos.
Os irlandeses da região de Davenport também sofreram. Ali, a seca era inclemente. Felizmente, o preço da soja subia. Como nunca subira antes. Mesmo obtendo apenas a metade da produção normal, poderiam evitar os prejuízos, se os Clarences acertassem a época de vender. Os preços quase dobravam na bolsa. Os que tinham algum dinheiro guardado, depois da venda da safra, poderiam comprar novas terras. Os bancos ofereceriam fazendas barato, com certeza.
CAPÍTULO 12
Nunca se vira nada igual na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Lá, ao contrário do campo, a euforia era total. Todos especulavam com a soja. Há muitos anos os corretores e operadores não ganhavam tanto dinheiro.
Os preços começaram a subir pouco depois do feriado da Independência. O plantio atrasara por causa das fortes chuvas da primavera. No início do verão, as chuvas terminaram, mas a safra se desenvolveu lentamente, pois o tempo ficou quente e seco. O bushel de soja, no início de julho em 3 dólares, subira agora para 3,20. No final do mês, os preços dispararam. Em apenas uma semana, a soja subiu para 3,40. Na primeira semana de agosto, para 3,50. Depois disso, uma ameaça de chuva, e os preços voltaram para 3,30.
No final de agosto e início de setembro, o mercado foi tomado por uma onda especulativa sem igual. Todo mundo comprava soja a futuro. Até os mensageiros do pregão de Chicago apostavam suas economias no mercado. Da Costa Leste, o pessoal de Nova York, geralmente mais ligado ao mercado de ações de Wall Street, começou a jogar na Bolsa de Chicago. Os boletins de meteorologia eram lidos avidamente pelos especuladores. Boatos davam conta de que iria faltar soja no final da temporada e os Estados Unidos, acreditem, seriam forçados a importar o produto da América do Sul e, até mesmo, da Europa. A cotação chegou a 3,80, preço nunca imaginado.
Os irlandeses, clientes de Bruce, acompanhavam, ansiosos. Sabiam que os Clarences ainda não tinham negociado a produção. Quando o mercado caiu de 3,50 para 3,30, esqueceram-se de que só não tinham vendido tudo em julho devido ao garoto Julius. Criticaram-no por ser tão ambicioso. Quando voltou a subir, desistiram de opinar. Passaram, simplesmente, a confiar na decisão dos Clarences.
Só quando a marca inédita de 4 dólares e 10 centavos foi atingida, Julius disse ao pai para vender. Nesse dia, depois do fechamento do pregão, o Departamento de Agricultura informaria a área plantada, a produtividade por acre e o total previsto para a safra. Apresentaria também as estatísticas do consumo. Julius preferiu não correr o risco decorrente do relatório do governo.
As piores expectativas se confirmaram. A quebra da safra seria a maior de todos os tempos. Quase metade fora perdida. Mas o consumo caíra muito. Os criadores de gado, porcos e galinhas vinham abatendo seus animais devido ao preço da ração, constituída basicamente de farelo de soja.
No dia seguinte, o preço chegou a 4 dólares e 23 centavos, parou lá em cima por alguns instantes... e desabou. Ninguém mais queria comprar. Afobadamente, todos tentavam vender ao mesmo tempo. Em questão de horas, fortunas foram perdidas na bolsa.
Alguns fazendeiros, já tendo sofrido sérios prejuízos no início da alta – quando venderam antecipadamente sua produção –, perdiam agora o resto de suas economias, jogado na especulação.
Como em todas as grandes altas de mercado da história, o final foi rápido, cruel e violento. A soja, tal como um campeão que sofrera o primeiro nocaute, agora apanhava de todo mundo.
A colheita dos irlandeses do Leste de Iowa fora vendida no pico, por Bruce e seu filho.
Terminou por ser uma boa temporada para os clientes do armazém, apesar da seca. Perderam quase metade da produção, mas venderam o resto pelo dobro do preço normal. Poderiam comprar mais terras e muitas sementes para o ano seguinte. Seria preciso plantar novamente na primavera. O solo das terras banhadas pelo Mississippi é generoso. No ano seguinte poder-se-ia produzir muita soja.
Bruce Clarence vendera 400 mil bushels de soja ao preço médio de 4 dólares e 10 centavos. Como Julius tinha direito a 5% do que passasse de 3,50, pagou ao menino 12 mil dólares. Tirou para as despesas, e para si, 17.400 dólares, referentes a 1% sobre o total da venda. Entregou o saldo aos fazendeiros. Havia sido uma boa temporada para todo o grupo.
Julius depositou seu cheque no banco e foi dar uma volta pela Rua Harrison. Era um final de tarde de outono. Um vento frio, primeiro sinal da chegada do inverno, soprava do Mississippi. Alguns apontavam e cumprimentavam o garoto.
Mas ele, definitivamente, não estava satisfeito. Enquanto caminhava, pensava no quanto poderia ter ganho se tivesse vendido soja, a descoberto, antes da queda.
CAPÍTULO 13
Aos 16 anos, em Davenport, Julius era considerado um adulto, porque trabalhava como um deles. Apesar disso, ainda freqüentava o colégio, comparecia aos bailes e jogava futebol. Era o melhor quarterback juvenil da cidade. Isso lhe granjeava muito prestígio entre os alunos do colégio, principalmente entre as meninas.
Com parte do dinheiro ganho com a soja, Julius comprara um Ford Fairlane, branco, conversível. O carro não atrapalhava em nada seu relacionamento com as garotas.
E, no Fairlane, Clarence tivera sua primeira grande revelação sexual. Numa noite de sábado, dirigia pela Rua Brady, voltando para casa após um baile no colégio. Parou, obedecendo a um sinal vermelho. De outro carro, uma mulher pediu-lhe para acender seu cigarro.
Ao deslizar para o lado direito do banco, isqueiro à mão, Julius viu, ao volante do carro ao lado, Vera Simmons, a atraente mulher do xerife. Vera pediu-lhe que a seguisse até o estacionamento do supermercado, pois precisava de ajuda.
Meia hora mais tarde, Clarence estacionava seu Ford em Sunset Park, Rock Island, do outro lado do rio, em Illinois. A capota, prudentemente levantada, ocultava Vera e Julius e toda a atividade sexual que transcorria dentro dos limites acanhados do carro.
Agradavelmente surpreendido, Julius deixava-se levar. A língua e as mãos de Vera percorriam o corpo do rapaz, cujas experiências, até então, não haviam passado de encontros furtivos com garotas tão inexperientes e desajeitadas quanto ele.
As carícias dela, seus suspiros, as palavras que pronunciava eram exatamente iguais aos relatos lidos nas revistas que passavam de mão em mão entre a rapaziada. A boca de Vera continuava a lenta descida, iniciada nos lábios de Julius, passando pelo ombro e peito, até chegar ao sexo do jovem, a esta altura pronto a explodir.
Como podia ter dado tanta atenção ao futebol, à soja e ao armazém de cereais?
Mas o armazém estava lá e, na segunda-feira, Julius voltou ao trabalho. Quando viu de novo a mulher do xerife, esta mal balbuciou um cumprimento.
Com o tempo Clarence começou a ouvir rumores. Vera atacava os rapazes da cidade. E, embora nada mais tivesse acontecido entre os dois, jamais se esqueceu da experiência. Mas nunca comentou o assunto com ninguém. Nem mesmo com seus maiores amigos. Nem com o velho Salomon Abramovitch.
O trabalho no armazém tornara-se sem graça para o jovem Clarence. Seu pai não se impressionara com o dinheiro ganho com a soja. Bruce gostava mesmo era do contato com os fazendeiros, das conversas de fim de tarde no armazém e das celebrações patrióticas e religiosas ligadas à velha Irlanda.
Bruce Clarence estava satisfeito com o que Deus lhe havia dado. Não sonhava com nada mais alto. Mas Julius tinha grandes coisas na cabeça. Por isso, o trabalho no armazém parecia-lhe pouco estimulante. Nem os estudos, nem o futebol, nem as garotas melhoravam seu ânimo. Foi quando conheceu o comprador de grãos, o judeu Salomon Abramovitch.
O velho Salomon tinha uma personalidade marcante. Seus 60 anos pareciam, no mínimo, 75. Sobrevivera a um dos trágicos campos onde os nazistas haviam dizimado os judeus. Prova disso era o número tatuado em seu braço, que fazia questão de não esconder.
Seu nariz alongado, suas grandes orelhas e seu queixo pontudo harmonizavam com o sorriso irônico e o olhar penetrante e inteligente. No contato pessoal, Abramovitch não transmitia a dor e o sofrimento pelos quais havia passado.
Após a guerra, Salomon conseguira um visto de imigração. Viera a Chicago trabalhar com o irmão, atacadista de cereais. Percorria o Cinturão do Milho, comprando grãos. Era bom nos negócios. Antes de os nazistas tomarem o poder, fora um dos maiores corretores da Bolsa de Berlim.
Julius veio a conhecê-lo no armazém do pai. Dos compradores de grãos com quem conversava, era o mais fácil de fazer negócios, mas, por outro lado, o que sempre conseguia comprar mais barato. Tinha uma maneira diferente de apresentar as coisas. Deixava a impressão de ter feito um favor, não um bom negócio para si.
Embora Julius não soubesse disso, era um dos poucos a conseguir arrancar alguma coisa de Salomon. Mesmo assim, porque o comprador gostava dele. O velho visitava mais o armazém da Avenida Utah do que realmente necessitava.
Certo dia, Abramovitch fechou um pequeno negócio, em conjunto com pai e filho. A negociação fora longa, o comprador gostava de conversar com eles. Após acertarem o preço e a data da entrega de 50 mil bushels de soja, Salomon sentou-se em um dos tamboretes junto ao balcão. Olhou, então, Julius no fundo dos olhos e, como se o pai não existisse e não estivesse ali presente, convidou:
– Julius Clarence, quero que venha trabalhar comigo. O salário é de 50 dólares por semana, mais 5% dos lucros. Já falei com meu irmão Moshe. Ele concordou, apesar de você ser um goy. Poderá continuar seus estudos. Não quero atrapalhá-lo nisso, mas preciso de seu talento.
Bruce, surpreso e indeciso, respondeu em lugar do filho:
– Não... ah, não acho muito certo o senhor levar o meu rapaz. Preciso dele em meu comércio. Bem, mas, por outro lado, gosto da maneira como faz as coisas, na frente das pessoas, sem segredos. Além disso, bem, senhor Abramovitch, eu já estava achando o armazém pequeno demais para o Julius. Bem..., para ser franco, gostaria de manter o negócio deste tamanho. Portanto, se a mãe dele concordar e ele aceitar a oferta, não tenho nada contra. Existe um dia para as coisas acontecerem. Às vezes, acontecem muito cedo. São os desígnios do Senhor.
Até então Julius não pronunciara uma palavra. Esperou o pai terminar de falar e liquidou o assunto:
– Preciso de tempo para organizar as coisas no armazém e contratar um contador. Posso começar daqui a quatro semanas.
Rapidamente Julius aprendeu o serviço. Como analisar o mercado, a oferta, na conversa com os fazendeiros, e a demanda, com os compradores atacadistas.
Quando as aulas permitiam, acompanhava Salomon em suas viagens por Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Kansas e as Dakotas. Ora em seu Ford ora no velho Buick de Salomon, percorriam as terras férteis banhadas pelos rios Mississippi e Missouri.
Dos imensos campos de trigo do Kansas, ao sul, até as margens dos Grandes Lagos, ao norte, visitavam as fazendas importantes, tomavam conhecimento das doenças das lavouras e registravam as mudanças climáticas. Sujavam as botas de neve no inverno e de lama na primavera, quando ocorria o degelo e tinha início o plantio. Acompanhavam a polinização no verão e o movimento do outono, quando as grandes máquinas faziam a colheita, trabalhando 24 horas por dia, à noite à luz de refletores.
O raio de ação de Salomon Abramovitch e seu ajudante Julius Clarence chegava até Manitoba, no Canadá.
No coração do velho judeu, Julius assumiu o lugar de seu filho, Ezra, a quem vira pela última vez em um vagão de gado, na estação de trem de Dachau, perto de Munique. Mais tarde, Abramovitch soube que Ezra trabalhara nas fábricas junto ao campo de Auschwitz, sendo, depois, morto nas câmaras de gás.
Salomon contou a Julius histórias da época em que era corretor da Bolsa de Valores de Berlim. Chegara a ter mais de 50 empregados. Falou ao jovem sobre a grande inflação alemã de 1923, quando um dólar chegou a valer 4 trilhões de marcos. Contou como tinha vendido suas ações antes do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que acabara derrubando também a Bolsa de Berlim. Mostrou como a Grande Depressão dos anos 30 afetara a Alemanha, jogando nas ruas milhões de desempregados e levando Adolf Hitler ao poder.
CAPÍTULO 14
Durante cinco anos Clarence trabalhou para Abramovitch e seu irmão Moshe. Ao longo desse tempo, a afinidade entre o garoto e o velho transformou-se em respeito e admiração mútuos.
Julius graduou-se no Colégio Palmer, mas não quis ir para a Universidade de Saint Ambrose, como almejavam os rapazes da região. A essa altura, o trabalho já lhe tomava todo o tempo.
Nessa época, morreu sua mãe. A notícia o surpreendeu longe de casa, quando viajava com Salomon. Seu pai sentiu profundamente o golpe. Perdeu a motivação pelos negócios e desinteressou-se pelo armazém. Terminou por vendê-lo. O dinheiro da venda cobriria suas necessidades pelo resto da vida.
Salomon sempre falava de sua vida em Dachau, durante a guerra. Como sobrevivera no campo, trabalhando no corte de cabelo e na separação dos pertences dos prisioneiros. Como conseguira manter seu emprego, bajulando os guardas. Como se submetera a todas as humilhações, para sobreviver.
Lentamente, Abramovitch foi incutindo em Julius a mentalidade de profissional de mercado. Ensinou-o a ter coragem e sangue-frio.
– Nenhum homem pode perder mais do que tem – dizia sempre. Para logo acrescentar: – Todo especulador deve, forçosamente, encarar a possibilidade de perder tudo e voltar a começar do zero.
Ressaltava sempre as vantagens do planejamento e da disciplina. Com sua voz cansada, encarava Clarence e dizia:
– O importante é entender os acontecimentos. Perceber as coisas antes dos outros. Analisar todas as possibilidades de negócio e o timing de cada uma delas. Tudo no mundo é questão de timing!
Ensinou a Julius como era importante para um operador colocar-se mentalmente no lugar do oponente, entender o ponto de vista contrário ao seu.
– Às vezes – dizia –, quando se está quase desistindo de uma posição, o outro lado também está. É preciso resistir mais que o adversário.
A década de 1950 chegara ao fim. Julius já era um homem quando perdeu o patrão e amigo. Salomon morreu subitamente, como sempre desejara. Seu irmão Moshe entregou a Julius um envelope, contendo várias páginas manuscritas pelo velho judeu.
No texto, ele previa grandes mudanças no mundo nos anos 60 e 70. Era preciso antecipar-se a essas mudanças. Aconselhava Julius a comprar barras ou moedas de ouro, pois os Estados Unidos não iriam conseguir manter o preço do ouro estável, como vinham fazendo desde o final da guerra.
Também aconselhava Julius a mudar-se para os grandes centros. Primeiro, Chicago; mais tarde, Nova York, onde as coisas importantes iriam acontecer.
No final, Salomon fazia uma previsão de longo prazo. Em sua opinião, o grande negócio do mundo, dali a 10 ou 20 anos, seria o petróleo. Se o Ocidente continuasse a desperdiçá-lo, como o fazia, o preço subiria muito devido à ameaça de que pudesse vir a faltar.
Profissionalmente, Clarence nada mais tinha a fazer em Davenport. Arrumou suas coisas, despediu-se do pai e rumou para Chicago. Seguia a ordem natural das coisas, tal como lhe indicara Salomon.
O mundo transformava-se rapidamente. No Egito, Nasser dava início ao movimento nacionalista árabe. Em Cuba, um gigante barbudo implantava, pela primeira vez, um governo marxista nas Américas. No Alabama, os negros clamavam pela igualdade de direitos. Em Berlim, tropas russas e americanas se encaravam à distância de um tiro de revólver.
Foguetes russos e americanos exploravam o espaço. O avião U-2 foi abatido sobre a Rússia. Israel raptou em Buenos Aires o carrasco nazista Adolf Eichmann. A França perdia suas colônias do Norte da África. Kennedy vencia Nixon na corrida pela Casa Branca. Os Estados Unidos começavam a se endividar.
Salomon tinha razão. Teria muito a aprender sobre o mercado, mas, acima de tudo, precisaria entender os acontecimentos mundiais.
CAPÍTULO 15
Com a mão direita, Julius puxou levemente o manche para trás e, quase imperceptivelmente, o avião começou a voar. Para decolar, o pequeno Piper Super Cub usou apenas um quinto da pista sul-norte do Aeroporto de Midway.
Quando cruzou a vertical da cabeceira, Clarence reduziu o ritmo de rotações do motor Continental, de 2.500 para 2.250 giros por minuto. Deu um quarto de volta para a frente na manivela do estabilizador e iniciou uma curva de 90 graus para a esquerda, conforme o procedimento do tráfego de subida do aeroporto.
A silhueta da cidade de Chicago começou a correr da esquerda para a direita, na linha do horizonte, na parte de baixo do pára-brisa, como se o avião estivesse parado e a cidade girando à sua frente.
Tão logo completou a curva, Julius, ainda em ângulo de subida, iniciou outro giro, desta vez de 45 graus para a direita. Com esses dois procedimentos, o avião evitou o tráfego do Aeroporto O’Hare, onde pousavam os grandes jatos e demais aviões comerciais.
O Piper continuou subindo. Clarence reduziu o ritmo do motor para 2.100 giros. Passou a observar o tráfego aéreo a seu redor. À sua direita, na direção correspondente a duas horas no ponteiro de um relógio imaginário, um jato, provavelmente um 707, deixava uma esteira branca de condensação, contrastando com o azul da manhã de outono. Do lado esquerdo, bem abaixo, na direção de 9 horas, viu a inconfundível silhueta de tubarão de um Constellation, no procedimento final para a descida em O’Hare.
A 3 mil pés de altura, estabilizou o avião, reduziu o ritmo do motor para 2 mil rotações e, com uma pequena inclinação, para baixo, da asa esquerda, acompanhada de leve pressão no pedal esquerdo do leme de direção, tomou o rumo 225, em direção a sudoeste.
Fez seu último contato pelo rádio com o centro de controle de tráfego aéreo de Chicago, confirmando seu prefixo, sua procedência de Midway e seu primeiro destino, para reabastecimento, Fort Madison, no estado de Iowa. Estimou a chegada em Fort Madison para as 15h30, hora de Greenwich, hora zulu, na linguagem oficial dos aviadores. Informou também seu destino final: um aeroporto particular, 50 quilômetros ao norte de Topeka, no Kansas.
Verificou as horas: 7h15 da manhã. Lembrou-se da diferença de fusos horários entre Chicago e Fort Madison e atrasou os ponteiros em uma hora. Olhou para a terra, lá embaixo. O Piper sobrevoava o xadrez das plantações do Meio-Oeste. As planícies verdes iam até onde a vista podia alcançar. Os últimos subúrbios de Chicago ficaram para trás.
Clarence estava satisfeito. Já se encontrava em Chicago há quase dois anos e os negócios iam bem. Os acontecimentos sucediam-se mais depressa do que poderia ter imaginado. Com apenas 23 anos, era o scalper mais novo da Chicago Board of Trade, a maior bolsa de mercadorias do mundo.
Havia também a aviação. No inverno de 1961 para 1962, fizera um curso de pilotagem. Tirou seu brevê e, por 4 mil dólares, comprou o Super Cub. Voava quase todos os fins de semana.
Pilotar não era apenas uma diversão. Era uma terapia para as tensões do mercado e uma oportunidade para ver as lavouras dos produtos que negociava na bolsa. Isso o diferenciava dos outros operadores e scalpers. Estava sempre em contato com os fazendeiros, como quando trabalhava com Salomon.
Logo ao chegar a Chicago, Julius trabalhara como mensageiro – runner, como se chamava – de pregão para a Morning, uma das mais tradicionais empresas corretoras de grãos.
O trabalho de um runner era simples e cansativo. Cada corretora tinha uma cabine telefônica no grande recinto de negociações da bolsa. Nessa cabine, um operador mantinha-se em permanente contato com a sede da empresa e com os clientes. Ao receber uma ordem, repassava-a, verbalmente, ao runner. A este competia retransmiti-la, o mais rapidamente possível, ao operador de pregão, no local de negócios, conhecido como pit.
Não era preciso muito para se tornar um bom runner. Apenas ser rápido e não se esquecer da ordem no meio do caminho.
Mas Clarence não se mudara para Chicago para ficar correndo de lá para cá no saguão da bolsa. Desenvolveu logo um sistema pelo qual, do meio do caminho entre a cabine telefônica e o pit, ele, por mímica, passava as ordens aos operadores de pregão. À semelhança deles, passou a colocar a mão direita espalmada para a frente, quando se tratava de venda, e para trás, no caso de compra. Uma série de posições com os dedos significava o preço. Com a mão esquerda, assinalava a quantidade e o mês de vencimento do negócio futuro.
No princípio houve alguma confusão, mas a velocidade aumentou bastante. Clientes com ordens simultâneas à Morning e a outras corretoras passaram a receber da empresa de Clarence as confirmações de suas operações, conhecidas como fills, antes dos concorrentes.
Com o tempo, todos os runners passaram a fazer a mesma coisa, mas Julius ficou com o mérito de haver inventado o sistema. Isso o ajudou muito em sua rápida promoção.
No verão de 1962, aos 22 anos, Clarence foi promovido a operador. A Morning, cujo lema era “O Cliente em Primeiro Lugar”, jamais arriscava seu próprio capital. Seus corretores e operadores não podiam operar por conta própria. Ganhavam parte da comissão cobrada dos investidores e especuladores.
Os operadores de pregão recebiam um fixo de 50 centavos por lote negociado. Uma compra ou venda de 10 lotes de soja, milho ou trigo rendia ao operador, independentemente do preço, 5 dólares. Se negociasse 100 lotes por dia, poderia ganhar mil dólares por mês. Por isso, o emprego era cobiçado.
Clarence foi designado para o pit de trigo.
Julius trocou, do tanque da asa esquerda para o da direita, a alimentação de gasolina. Deu uma checada minuciosa nos instrumentos do painel de controle.
Estava louco por um cigarro. Mas, para isso, precisava retirar o vapor de gasolina porventura acumulado no interior do avião. Abriu por alguns segundos as janelas dos dois lados. Um vento cortante e gelado invadiu a cabine.
Segundo o manual do fabricante, era proibido fumar no interior do Super Cub. Mas Julius sabia que o perigo não residia em fumar, mas em acender o cigarro. Por isso, depois que renovou o ar, acendeu um, rapidamente. Fechou as janelas, sorveu uma grande tragada e soltou a fumaça lentamente. Uma névoa azulada invadiu o avião. Como a maioria dos fumantes, Clarence, quando tragava, tinha a sensação de aspirar oxigênio puro.
Depois de voar por duas horas e meia, Julius cruzou o Mississippi e pousou em Fort Madison. Eram 8:30 da manhã, hora local. Após 15 minutos de parada para reabastecimento, decolou para o Kansas.
Do ar, Julius observou o grande rio, logo abaixo. Como conhecia a região! À sua esquerda, e na cauda, Illinois ficava para trás. Do lado direito, Iowa, sua terra natal. À frente, as planícies verdes do Missouri.
Na vertical de Chillicothe, chamou o centro de controle de tráfego aéreo de Kansas City. Estimou cruzar o rio Missouri, no través norte daquela cidade, às 18h25 zulu, 11h25 local. O controlador de tráfego liberou o Piper para vôo visual até 50 quilômetros ao norte de Topeka. Desejou boa viagem.
Enquanto olhava os campos imensos lá embaixo, Julius voltou a pensar no trabalho.
No início do ano, com o resto do dinheiro trazido de Davenport, mais
10 mil dólares ganhos como operador, comprara um assento da bolsa, com licença para operar no pregão de trigo. Pediu demissão da Morning e tornou-se um scalper.
Os scalpers, também conhecidos como locais, não tinham clientes. Operavam por conta própria. Não pagavam corretagem porque possuíam o assento da bolsa. Por isso, qualquer quarto de centavo por bushel ganho em uma operação representava lucro.
Julius ganhava muito dinheiro. Negociava contratos futuros de trigo para si mesmo. Embolsava todo o lucro, mas, por outro lado, também arcava com os prejuízos. Felizmente, estes eram raros.
Em seu trabalho no pit de trigo, Clarence observava o tempo todo os operadores das grandes corretoras. Aprendeu a desvendar suas intenções.
Um deles vendia trigo para uma cooperativa de produtores. Quando esse operador tinha de vender uma grande quantidade, escrevia a ordem em um papel. Antes de vender o último lote, amassava-o e jogava-o no chão. Era o sinal esperado por Julius. Entrava comprando a mercado. Cessado o efeito da ordem da cooperativa, o preço subia. Clarence, então, vendia o lote que comprara.
Alguns locais se descontrolavam quando perdiam dinheiro. Era fácil para Julius perceber quando iriam desfazer-se de suas posições. Já a fisionomia de Clarence nunca se modificava, estivesse perdendo ou ganhando. Chamavam-no de “o homem de gelo”.
Com a barba ruiva, que deixara crescer quando ainda morava em Davenport, Clarence destacava-se no pregão.
Mas o que realmente o diferenciava de todos os outros era a coragem. Corria grandes riscos em suas operações. Nunca se esquecera do velho Abramovitch. Quase podia vê-lo, em uma tarde quente de verão, enquanto cruzavam as estradas do Cinturão do Milho. Chegava a ouvir sua voz:
– O verdadeiro especulador tem coragem de arriscar tudo. De voltar a começar do zero.
Como a maioria dos scalpers, Julius segurava por pouco tempo uma posição. Mas, desta vez, agia de modo diferente. Acumulava um grande lote de trigo futuro para dezembro, piramidando para cima, isto é, usava o lucro da operação para comprar cada vez mais. O bushel de trigo subira de 1 dólar e 90 centavos para 2 e 10, mas ele acreditava que iria subir ainda mais.
Não pretendia ser scalper para o resto da vida, comprar uma casa de campo depois de 10 anos, constituir lentamente um pecúlio para a aposentadoria e, talvez, no final da vida, fazer um cruzeiro de navio ao redor do mundo. Não. Queria passar logo para a próxima etapa.
Por isso, comprava tanto trigo. Já colocara como margem de garantia da operação todo seu dinheiro. Se fosse necessário, faria um empréstimo bancário, dando em garantia seu apartamento, o assento da bolsa e até mesmo o Super Cub.
Havia outra razão para comprar tanto trigo. Estivera observando o operador da Landmark, uma grande trading. O homem vinha comprando grandes lotes de trigo para dezembro. Aparentando muita confiança.
Por esse motivo, Julius se encontrava a caminho do Kansas. Passaria o fim de semana na fazenda de um antigo cliente da época em que trabalhava com Salomon. Ninguém conhecia trigo como Abe Cameron. Julius queria conversar com ele sobre o estado dos trigais e dar uma olhada nas plantações.
Observando o rio Kansas à sua esquerda, Clarence iniciou uma curva de pequena inclinação, picou ligeiramente o estabilizador e abaixou o nariz. Reduziu o giro do motor para 500 rotações. Procedeu à descida, para o pequeno campo de pouso da fazenda.
Voando paralelamente à pista, passou por cima da casa, dando rajadas com o motor e agitando as asas para anunciar a chegada. Fez uma curva de 90 graus para a esquerda e iniciou a perna-base. Puxou a alavanca dos flaps. Mais uma curva de 90 graus, também para a esquerda. A diminuta pista de grama surgiu a sua frente. Ultrapassou uma cerca, as rodas quase roçando os mourões. Puxou o manche para trás, suavemente. Sentiu o avião perder a sustentação.
O Piper se aninhou na pista, as três rodas tocando o chão ao mesmo tempo. A grama alta fê-lo parar rapidamente. Clarence voltou a empurrar a manete. Taxiou pela pista, ziguezagueando para poder enxergar a sua frente, pelos cantos inferiores do pára-brisa. Parou, praticamente à porta da casa, ao lado do Grumman monoplace, modelo 1935, de Cameron, uma raridade que atraía aviadores de todo o Meio-Oeste.
Abe já o esperava, cercado de vários cachorros latindo para o avião. O fazendeiro chutou um deles, que fugiu ganindo. Clarence pulou do Super Cub e ficou entre os dois aviões.
– Cada vez que olho para esta coisa – Julius deu uns tapinhas no montante da asa do Grumman –, fico pensando como um sujeito pode ser tão louco a ponto de voar neste caixote.
Cameron gostou da provocação.
– Bem, Julius, ele não foi feito para qualquer um. Mas, posso lhe garantir, quando eu ficar velho e o braço não agüentar mais segurar um avião de verdade, vou comprar um teco-teco como o seu.
– Julius mal chegou e já estão vocês dois falando de aviões. – Rose Cameron desceu os degraus da entrada da casa, limpando as mãos no avental, e caminhou até eles.
– Aposto que ainda não almoçou, moço da cidade. Aposto também que só apareceu por aqui porque sabia que eu tinha assado um pernil de carneiro. – Ela estava visivelmente satisfeita em ver Clarence. Saudou-o com tamanha palmada no ombro que quase o fez perder o equilíbrio.
Subiram à casa. A senhora Cameron voltou à cozinha. Abe trouxe uma garrafa de bourbon. Os dois sentaram-se no alpendre. Começaram a conversar, enquanto aguardavam o almoço.
Clarence estava esfomeado, após o longo vôo. Além disso, o pernil fazia jus à fama de Rose Cameron. Batatas assadas ao forno, salada e pão caseiro de milho completaram a refeição. Como sobremesa, torta de morango. Depois, café.
Após o almoço, os dois homens saíram em uma picape para ver a lavoura. Naquela época do ano, o trigo já estava alto, quase pronto para a colheita. Dali a algumas semanas, as máquinas iriam colher e ensacar a produção. Os pés estavam perfeitos: altura e coloração certas.
Abe ficou satisfeito com o olhar de aprovação de Clarence.
– Está tudo assim, Julius. E não é só aqui na fazenda. Em todo o estado do Kansas nunca se viu produtividade igual. O plantio começou tarde este ano, a safra atrasou, mas valeu a pena esperar. Até os russos ficaram impressionados.
– Você falou “russos”? O que os russos vieram fazer aqui? – Clarence ficou logo interessado.
– Bem, na verdade, eu não sabia que se tratava de russos. Mas o meu vizinho, Lantos, ele nasceu na Lituânia, um país tomado pela Rússia, ele percebeu logo. Os homens chegaram em uma camionete, pediram licença e examinaram o trigo. Depois, foram embora. Muito simpáticos. Engraçado, os comunistas também sabem ser agradáveis! Quando conversaram entre si, o Lantos percebeu logo. Não resisti e perguntei se estavam gostando do trigo. Eles elogiaram a plantação e, pelo jeito de examinar os grãos, as raízes e o solo, deu para ver que entendiam do negócio.
Clarence examinou vários campos e dormiu na fazenda. Na manhã de domingo, comeu o brunch feito por Rose, conversou mais um pouco e iniciou o regresso.
Enquanto voava, raciocinou sobre o que tinha visto e ouvido. Conforme observara, a colheita não iria ter problemas, apesar de atrasada. Por esse lado, seria improvável uma alta no preço. Mesmo assim, continuava a acreditar que havia alguma coisa, da qual não tinha conhecimento, que faria o trigo subir muito. Afinal, por que o operador da Landmark comprava tanto? E, agora, essa história dos russos. Havia algo por trás de tudo isso. Era pagar para ver.
CAPÍTULO 16
O grande saguão da Chicago Board of Trade enchia-se de gente naquela segunda-feira de outubro. Operadores, auxiliares, fiscais, runners, todos juntavam-se em rodas, comentando os jogos da véspera. O campeonato de futebol estava equilibrado aquele ano. O principal assunto das conversas eram as grandes jogadas do domingo.
O recinto de negociações dividia-se em pits, círculos formados por degraus descendentes, deixando o centro da roda em nível inferior ao do piso principal do saguão. Em cada um desses degraus, negociava-se um mês futuro da mercadoria relativa àquele pit.
Se um operador quisesse comprar milho para dezembro, bastava dirigir-se ao pit de milho e descer até o degrau correspondente a esse mês. Qualquer operador estacionado naquele degrau, apregoando alguma quantidade por determinado preço, estaria automaticamente comprando ou vendendo milho para dezembro. Se quisesse negociar outro mês, março, por exemplo, era só descer ao degrau correspondente. Havia pit de soja, farelo de soja, óleo de soja, milho, trigo e aveia.
Os mercados abriam precisamente às 9h30 da manhã. Exatamente nessa hora, quando soava a campainha, todos pareciam enlouquecer. Aquelas mesmas pessoas, minutos antes comentando futebol, passavam a gritar e gesticular furiosamente umas com as outras. Não raro, chegavam à agressão física. Nenhum leigo, ali presente como visitante, compreendia como os operadores se faziam entender em meio a tais tumulto e gritaria. No entanto, comunicavam-se muito bem. Ali mesmo, naquele saguão, havia muitas décadas, negociava-se grande parte dos grãos produzidos no mundo.
Através dos operadores, fazendeiros vendiam sua produção, produtores de alimentos e rações animais compravam matérias-primas, especuladores ganhavam e perdiam fortunas.
Como scalper, Clarence negociava por conta própria. Naquela manhã de segunda-feira, com calma, logo após o toque da campainha, dirigiu-se ao pit de trigo. Passou a observar os negócios para dezembro. O tempo estivera bom no fim de semana no Kansas, em Montana e nas Dakotas. Nenhuma chuva, bom para a colheita. Os analistas já acreditavam em uma boa safra, apesar do atraso.
O mercado abriu em baixa: 2 dólares e 8 centavos por bushel, 2 centavos abaixo do fechamento da sexta-feira. Os locais já vendiam pesado, quando ordens grandes de venda chegaram ao pit. O mercado caiu mais. Estava agora a 2 dólares e 5 centavos.
Tranqüilamente, sem alarde, com a história dos russos na cabeça, e observando o comportamento do operador da Landmark, Julius levantou a palma da mão e virou-a para si. Passou imediatamente a apregoar:
– Compro 20 mil a zero cinco e meio. – Referia-se a 20 mil bushels de trigo, um lote modesto.
Do outro lado da roda veio um berro:
– Fechado.
Clarence era agora o centro das atenções. Continuou gritando e gesticulando.
– Compro mais a zero cinco e meio. Pago zero cinco e 3/4. Dezembro, compro 50 mil a zero cinco e 3/4.
O profissional da Landmark observava tudo, calado. Depois de algum tempo foi até sua cabine telefônica e conversou por alguns minutos. Voltou à roda. Disse logo a que veio.
– Pago zero seis. Compro 100 mil a zero seis.
Agora, todos gritavam ao mesmo tempo. Julius puxou o mercado para zero seis e 1/4. Outros operadores começaram a comprar. Lotes grandes. Os locais rapidamente cobriram suas posições vendidas.
O mercado subiu para zero sete; depois, zero oito. Antes do meio da sessão, o trigo já estava em alta. Todos comprando, uns seguindo os outros, sem ninguém saber por quê, como sempre acontecia. Mas Julius sabia que o homem da Landmark tinha uma carta escondida na manga. Podia sentir isso. Alguma coisa a ver com aqueles russos.
Naquela segunda-feira, o Trigo Dezembro fechou em 2,15 por bushel. Se, no fechamento, Clarence vendesse toda a sua posição – como era de seu feitio –, ganharia um bom dinheiro. Mas ele farejava uma grande alta e resolvera apostar pesado. Precisaria recorrer ao banco, pois não tinha capital suficiente para garantir sua posição. Entrara no jogo sem uma estratégia preestabelecida. Agora, iria até o fim.
Depois do fechamento, o Departamento de Agricultura anunciou que o inverno soviético começara muito cedo. Geadas prematuras haviam sido registradas em vários regiões da Ucrânia. Anunciou também a chegada de uma missão comercial soviética a Washington para negociar a compra de trigo.
Ao contrário do que se poderia esperar, o mercado caiu na terça-feira. O Trigo Dezembro fechou em 2,12. Na opinião dos analistas, o presidente Kennedy nunca iria autorizar a venda de trigo aos soviéticos. O relacionamento entre as duas potências estava péssimo, por causa da crise dos mísseis de Cuba.
Para evitar uma queda maior, a Landmark comprou muito. Clarence também. Todos venderam para eles.
Apesar da baixa, Julius foi para casa confiante. Acreditava que o presidente autorizaria o negócio com os russos e até mesmo financiaria a compra. Conforme aprendera com Salomon, tentava colocar-se no lugar de Kennedy.
Na posição do presidente, não via outra coisa a não ser o interesse em melhorar o relacionamento entre os dois países. No episódio dos mísseis, os Estados Unidos tinham levado vantagem. Certamente, Kennedy não teria interesse em agravar a crise. E, mais, Julius acreditava que Kennedy já se posicionara a respeito da venda, e a Landmark sabia disso. Eles nunca apostavam na sorte. Só iam na certa.
Na quarta e quinta-feira o mercado voltou a subir. Kennedy concedera uma audiência ao embaixador soviético.
Após o encontro, o presidente anunciou um pronunciamento sobre o assunto na noite de quinta. Nesse dia, o Trigo Dezembro fechou em 2,28. Todos comprando.
Julius jantou bem naquele dia. Foi cedo para casa e ligou a televisão. O presidente falaria à nação sobre política externa e informaria sua decisão sobre a venda de trigo aos russos.
Para Clarence era a hora da verdade. Durante todo aquele episódio, agira única e exclusivamente por intuição. Se Kennedy autorizasse a venda de trigo, seria um homem rico. Caso contrário, perderia tudo. O dinheiro, o apartamento, o assento da bolsa e até o Super Cub. Começaria do zero novamente. Agora com o estigma de perdedor, o que tornaria as coisas mais difíceis.
Kennedy gostava de falar pela televisão. Nunca os americanos haviam tido um presidente com tanto poder de comunicação. Ele sabia tirar proveito disso. Naquela noite, estava impecável. Começou sua fala explicando a crise dos mísseis.
“A América nunca poderia permitir a instalação de armas ofensivas, de poder tão destruidor, a poucos quilômetros de sua costa”, ponderou. Mas não desejava confrontos. Prova disso, assinava, naquele exato momento, um acordo comercial com a União Soviética. Os Estados Unidos lhe venderiam 150 milhões de bushels de trigo a serem pagos em 20 anos. Estendia a mão como sinal de boa vontade. Esperava um convívio pacífico entre os dois povos.
O mercado, a essa altura, já esperava a venda. Mas não 150 milhões de bushels. Muito menos o financiamento, garantindo a operação.
O trigo abriu no limite de alta na sexta-feira. Desde a campainha havia compradores de Trigo Dezembro por 2,43. Julius vendeu sua posição. Estava satisfeito. Liquidou 156 lotes, de 5 mil bushels cada um, comprados em média por 2,13. Embolsou um lucro de 234 mil dólares. Pagaria sua dívida ao banco e ainda sobrariam quase 200 mil.
Por coincidência, saiu do pregão junto de Terry Castle, o operador da Landmark, que estivera por todo o tempo do mesmo lado no campo de batalha. Ao se despedirem, Castle deu-lhe dois tapinhas na face. Sussurrou:
– Não sei se você sabe, mas as coisas lá na empresa estavam muito paradas. Ninguém conseguia ganhar dinheiro. Resolvemos, então, seguir seus passos no pit. Querido Clarence, aposto todo o meu lucro que você, desde o início, conhecia esse negócio do Kennedy com os russos. Meu chapa, você só joga na certa. Todo mundo sabe disso.
Julius sorriu para o colega, seu sorriso enigmático reforçando no outro a convicção de estar certo. Dirigiu-se ao estacionamento. Sabia o quanto havia sido imprudente em todo aquele episódio.
Um dia haveria de ter seu próprio setor de informações. Nunca mais se guiaria por palpites.
O mais novo rico do país, sim, ele agora era um homem rico, começava a enxergar muito além do cenário ocre de folhas secas do outono.
CAPÍTULO 17
O entusiasmo de Clarence pelo mercado de grãos e pela profissão de scalper se extinguia. O horizonte, visto de dentro da bolsa, era extremamente limitado. Existiam outros mercados, outros negócios. Julius ansiava por eles. Não saíam de sua cabeça as previsões de alta para ouro e petróleo, feitas por Salomon Abramovitch.
Precisava participar dos acontecimentos, ir para Nova York, onde a verdadeira ação realmente acontecia.
Os eventos se sucediam. Os Estados Unidos envolviam-se no Sudeste Asiático. Primeiro, no Laos. Agora, no Vietnã. Intrometeram-se em uma briga que não lhes dizia respeito, entre os comunistas do Norte e uma dinastia corrupta do Sul. Botas americanas atolavam-se nos pântanos da península da Indochina.
Julius lembrava-se de Abramovitch:
– O importante é entender os acontecimentos do mundo.
Clarence se dava conta de que os Estados Unidos compravam o mundo com a emissão de dólares. Gastavam além de suas possibilidades. De grandes exportadores de petróleo, passaram a ser os maiores importadores.
Salomon tinha razão. Inevitavelmente, o ouro e o petróleo iriam subir.
O governo mantinha o ouro fixado em 35 dólares por onça. O barril de petróleo valia menos de 3 dólares. Seu baixo preço garantia o crescimento da América. Os países exportadores de petróleo organizavam-se para defender os preços, porém ninguém lhes prestava atenção. Mas as coisas iriam mudar. Julius tinha certeza disso. Precisaria apenas manter os olhos abertos.
Clarence possuía um apartamento, o assento da bolsa, o Super Cub e um Corvette conversível Tuxedo Black. Decidiu vender tudo. Juntou o produto da venda ao dinheiro ganho com o trigo e partiu em busca de horizontes mais amplos, assim como quando saíra de Davenport.
Sexta-feira, 22 de novembro de 1963.
A data ficou marcada para sempre na vida de Clarence. Naquele dia, o mesmo em que Kennedy foi assassinado em Dallas, mudou-se de Chicago e, o que iria mudar definitivamente seu destino, conheceu o árabe Abdul al-Kabar.
Julius soube do assassinato pelo rádio do táxi que o conduzia ao aeroporto. Numa reação instintiva, pensou logo no que estaria acontecendo com o mercado.
Quando chegou a O’Hare, viu-se em meio a gente assustada e aturdida. Naqueles momentos dramáticos, ninguém sabia quem alvejara o presidente. Tanto podia ser um fato isolado como o início de um complô.
O aeroporto estava silencioso, as pessoas falando baixo. A maioria concentrada junto a alguns aparelhos de televisão. Todos meio perdidos, conversando com desconhecidos, como acontece nessas ocasiões.
Julius dirigiu-se ao balcão da companhia aérea para despachar sua bagagem e pegar o talão de embarque. Pagou o carregador e aguardou sua vez. A atendente estava de mau humor, talvez por causa da morte do presidente, talvez porque ela fosse assim mesmo. O objeto da grosseria da moça era o passageiro à frente de Clarence.
– Já lhe disse, senhor. O avião está lotado. Se não tem passagem, não poderá embarcar. Não posso perder meia hora atendendo cada passageiro.
– Mas, entenda, senhorita – retrucou o homem –, eu comprei uma passagem. Só que a esqueci no hotel. Estou disposto a comprar outra, não há problema quanto a isso. Quero apenas que mantenha meu lugar no avião, correspondente ao bilhete extraviado. Se tiver a bondade de consultar a lista de passageiros, encontrará meu nome. – O passageiro era um homem de cor bronzeada, elegantemente vestido, certamente um estrangeiro, apesar do inglês irrepreensível.
Ainda atônito com o assassinato do presidente, Julius não estava interessado no diálogo da moça com o estrangeiro, a não ser pelo fato de que não seria atendido enquanto o problema do outro não fosse resolvido. E desejava resolver logo seus trâmites de embarque para poder, como todo mundo, acompanhar o noticiário do assassinato.
– Não adianta, senhor. Existe uma lista de espera. O senhor, mesmo comprando outra passagem, vai ter que ficar em último lugar. Além disso, senhor, não vendo passagens. Apenas despacho os passageiros. Terá que dirigir-se ao outro lado do saguão e comprar um novo bilhete no balcão de vendas. Depois, volte aqui para colocar seu nome na lista. Agora, se me dá licença, preciso atender o rapaz aí atrás.
Clarence assistira a tudo, calado. Finalmente, não resistiu a tamanho absurdo. Pediu licença ao estrangeiro e, dedo em riste para a moça, resolveu definitivamente a questão.
– Garota, verifique imediatamente a lista de passageiros. Veja se o nome deste senhor consta dela. Se constar, faça o favor de guardar o lugar dele. Caso contrário, vou reclamar com seu superior. Se o amigo aqui tem reserva, ele vai embarcar. Nem que seja no meu lugar. Tem mais, garota. Se eu não for hoje para Nova York por sua causa, vou escrever para sua companhia e contar como você atende os passageiros.
Surpresa com a intervenção inesperada, a atendente, de maneira relutante, terminou por aquiescer, não sem antes murmurar algo sobre os estrangeiros terem matado o presidente. Coisa que só ela sabia.
O passageiro mal teve tempo de agradecer a Julius. Este correu para junto de um grupo de pessoas à frente de um aparelho de televisão.
Mas, pouco depois, voltaram a encontrar-se, já dentro do avião, onde se sentaram lado a lado. O estrangeiro apresentou-se.
– Al-Kabar. Meu nome é Abdul al-Kabar. Lamento profundamente a morte do presidente Kennedy. Parecia-me um grande estadista. E, mais uma vez, agradeço sua interferência no aeroporto. Espero retribuir algum dia. Mas deixe-me entregar-lhe meu cartão.
Estendeu um cartão de visita. De um lado, várias coisas escritas em árabe. O verso era mais esclarecedor.
Abdul al-Kabar
Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP
Secretário do Comitê de Preços
Genebra – Suíça
– Sou árabe-saudita e moro em Genebra. Mas estou sempre em Nova York, onde minha organização tem um apartamento permanente no Waldorf Astoria. – Al-Kabar disse-o com naturalidade, sem sinal de exibicionismo.
– Então, poderemos pegar um táxi juntos. Também me hospedarei lá. Lamento não ter um cartão de visita, pois estou, como poderia dizer, bem, sem emprego no momento.
Se Al-Kabar estranhou um desempregado, praticamente um menino, se hospedar no Waldorf, não o deixou transparecer.
– Faço questão de retribuir a gentileza do aeroporto. Terei prazer em convidá-lo para jantar. Poderemos, então, saber um pouco mais um sobre o outro.
CAPÍTULO 18
Em seus primeiros dias em Nova York, Julius esteve o tempo todo ocupado. Precisava adaptar-se rapidamente à cidade, conhecer pessoas e lugares. Estranhou a falta do mercado. Da tomada rápida de decisões, do ambiente, dos telefones. Sentia-se um parasita, apesar de acordar cedo e passar o dia todo visitando corretoras e bancos.
Era um péssimo momento para procurar emprego. Todos estavam traumatizados. A cidade parou para ver o enterro de Kennedy pela televisão. Depois, houve o assassinato de Lee Oswald. As pessoas sequer queriam falar de negócios.
Finalmente, passou. Lyndon Johnson conduzia a nova administração e o mercado analisava os atos do novo presidente. Wall Street não era muito dada a sentimentalismos. Era preciso voltar aos negócios.
Duas semanas após a morte de Kennedy, Clarence encontrou o que procurava na seção de empregos do New York Times dominical.
Operadores de Ações
– Sociedade Corretora precisa de operadores –
Cartas para a redação deste jornal
Favor enviar currículo com referências
Quando Laura Goldman, vice-presidente de Recursos Humanos da Rodney, Drake & Co., colocou o anúncio no jornal, aguardara, como sempre, uma enxurrada de cartas de recém-graduados em Economia e Administração de Empresas, além de um monte de currículos de pessoas sem a menor qualificação.
Não esperava, de maneira alguma, a carta de um operador de futuros de Chicago, um scalper da CBOT, de pouco mais de 20 anos, 200 mil dólares de patrimônio, residente no Waldorf Astoria e com referências dos principais bancos do Meio-Oeste. Aquilo deixou-a extremamente curiosa.
Ao contrário do telegrama habitualmente enviado aos candidatos selecionados para a primeira entrevista, telefonou pessoalmente para ele.
– Senhor Clarence, aqui é Laura Goldman, da divisão de pessoal da Rodney, Drake. Nós publicamos o anúncio no Times. Creio que se enganou. Estamos precisando de operadores, não de um sócio – disse, irônica.
– Exatamente o que procuro, senhorita Goldman. Uma vaga de operador. Isto é, se não tiver nada contra os caipiras do Meio-Oeste.
– Certamente não, senhor Clarence. Poderia passar aqui amanhã? Digamos... às 10h. – Laura queria saber por que alguém como ele se interessara pelo emprego.
No dia seguinte, pontualmente às 10h, Julius encontrava-se na ante-sala de Laura Goldman, no 8º andar do número 210 da Rua Liberty, parte baixa
de Manhattan. Foi atendido de maneira extremamente cordial pela senhorita Goldman.
– Olá, senhor Clarence. Tenho enorme prazer em conhecê-lo. Confesso que achei seu currículo e os dados pessoais contidos em sua carta muito superiores aos que costumamos receber. Por isso, tomei a precaução de verificá-los pessoalmente. Estou impressionada. Então, o senhor quer ser operador de ações da Rodney, Drake?
– Exatamente, senhorita Goldman. Chicago já não me interessava muito. Resolvi começar por baixo no mercado de ações. Tenho muito a aprender. Creio ser esta a melhor maneira.
Aproveitando a deixa, Laura foi direto a um assunto que a constrangia e que, talvez, fizesse Julius desinteressar-se pelo emprego.
– Foi bom o senhor falar em aprender, em treinamento. Temos uma regra aqui na empresa da qual, com sua experiência, poderá não gostar muito. Novos operadores devem passar, primeiro, por um período de treinamento de quatro semanas. Na próxima segunda-feira começaremos uma turma. Se ainda continua interessado, sua vaga está garantida, é óbvio.
– Negócio fechado, senhorita Goldman. – Julius não demonstrava nem entusiasmo nem desinteresse. Aparentava a mesma fisionomia neutra que o faria ficar famoso não só na Rodney como em toda a Wall Street.
Laura ficou satisfeita com a conquista. Algo em seu interior dizia-lhe que o homem sentado a sua frente iria fazer uma grande carreira na empresa. Adiantou logo um tema normalmente desenvolvido na primeira aula, ministrada por ela mesma.
– Só mais uma coisa, Julius – não resistiu ao tratamento mais íntimo; afinal, ele era pouco mais que um garoto. – Não sei se sabe, mas nossa corretora é conhecida como “Selva de Wall Street”. Sabe por quê?
E, sem dar-lhe tempo para responder, emendou:
– Aqui na Rodney quem gera muitas corretagens ganha dinheiro. Muito mesmo. Quem não apresenta bons resultados é logo dispensado. Corretagem é o nosso negócio.
Clarence iniciou o treinamento. O curso era centralizado na formação de “fazedores de corretagem”. Os alunos aprendiam a maneira certa de agradar aos investidores e especuladores, incentivando-os a fazer mais e mais negócios e gerando corretagens e mais corretagens. Eram instruídos a falar dos assuntos pelos quais os clientes se interessavam, fossem corridas de cavalos, jogos de tênis, teatro ou pescaria.
Os instrutores revelavam os segredos da profissão de corretor.
– Alguns clientes, principalmente os mais velhos, irão querer conversar com vocês apenas para fugir à solidão. Uns irão ganhar dinheiro, muitos perderão, essas são as regras do jogo. É preciso saber como lidar com os perdedores. Terão que mostrar solidariedade, falar-lhes de maneira compungida, como se também estivessem perdendo.
Quando um aluno perguntava sobre o desempenho das empresas cujas ações eram negociadas na bolsa, os instrutores tinham a resposta na ponta da língua.
– Não precisam se preocupar com esses detalhes. Para isso – diziam – terão o departamento técnico da Rodney, Drake à disposição de vocês. Basta que saibam lidar com os clientes. O resto acontecerá naturalmente.
O sistema de remuneração era explicado minuciosamente.
– O salário fixo de vocês vai ser exatamente zero. Corretores não ganham salários. Ganham comissões. E tem mais. Sobre as primeiras corretagens geradas, a participação será pequena, apenas 10%. A Rodney precisa se reembolsar das despesas. Mas, se examinarem a tabela de comissões, junto ao material de vocês, terão uma grata surpresa. Quem gerar um número elevado de corretagens receberá 50% delas, além de outras vantagens distribuídas ao final de cada ano para os melhores: automóveis, viagens à Europa e outros prêmios.
A própria Laura Goldman explicou o sistema de promoções:
– No começo todos serão trainees. – Olhou desajeitadamente para Clarence. – Depois, quando aumentarem seu volume de negócios, passarão a operadores, juniores, seniores, assessores técnicos, consultores de investimentos e, finalmente, vice-presidentes. – Omitiu o fato de a vice-presidência não significar muita coisa. Dos 300 funcionários da casa, mais de 50 eram vice-presidentes, inclusive ela, Laura.
Depois de quatro semanas, das mais instrutivas de sua vida – não por ter aprendido muita coisa sobre o mercado de ações, mas por ter aprendido como as corretoras de Wall Street funcionavam – Clarence transformou-se em um operador de ações.
Designaram-lhe um lugar na sala de operações, em frente a um painel com vários ramais telefônicos e um pequeno arquivo giratório para colocar as fichas dos clientes. Bastava telefonar para as pessoas cujos nomes eram fornecidos pela Rodney, conseguir ordens de compra e venda de ações, ligar para os operadores da New York Stock Exchange, da American Stock Exchange e da mesa de negociações do mercado de balcão, e fechar negócios.
Se operasse bastante, seria promovido várias vezes, até chegar a vice-presidente. Seria respeitado na comunidade, freqüentaria almoços de negócios, iria aos melhores coquetéis. Possuiria sempre um carro do ano e vestiria ternos feitos nos melhores alfaiates. Gravatas e sapatos, só italianos. Moraria em um bom apartamento no East Side, perto do parque. Entraria para o sistema. Seria um membro do “clube”.
Caso contrário, seria posto no olho da rua.
CAPÍTULO 19
Na sala de operações da Rodney, Drake, os operadores sentavam-se lado a lado, diante de mesas compridas, todas voltadas para o mesmo lado, como em uma sala de aula.
Na parede em frente, ao alto, corria o ticker tape, a tradicional esteira luminosa de cotações, marca registrada da New York Stock Exchange. Do lado direito, em uma tela, apareciam as cotações das outras bolsas de ações e de mercadorias e do mercado de balcão. Do lado esquerdo, outro terminal transmitia as principais notícias econômicas e políticas, fornecidas pela United Press e pela Reuters.
Os operadores de ações eram as pessoas mais bem informadas do mundo. Sabiam das coisas no momento mesmo em que aconteciam.
A maioria dos iniciantes obtinha ordens pequenas de seus próprios parentes e conhecidos. De pouco serviam as listas de clientes em potencial, fornecidas pela Rodney. Eram compostas de nomes de antigos clientes, que há muito não faziam negócios com a empresa, ou de nomes retirados da lista telefônica. Só os muito hábeis, e os muito bem relacionados, conseguiam, de início, um número razoável de ordens.
Com Julius, as coisas se passaram de modo diferente. Desprezou as listas fornecidas pela empresa, depositou 200 mil dólares em sua própria conta e começou a operar. Todos os dias, realizando muitos negócios. Gerando muitas corretagens. Mas foi o dinheiro de Abdul al-Kabar que lhe permitiu pôr em prática seus planos mais ambiciosos.
Quando ainda fazia seu treinamento, Al-Kabar o levara para jantar. Fizeram-no no próprio Waldorf.
Abdul era uma pessoa fechada, introvertida, extremamente culta, que falava, além de árabe, inglês, francês, alemão e russo. Logo de início, entendeu-se com Julius. Acabou falando bastante.
– Custei a me decidir por uma carreira. Como meu interesse maior sempre foi o petróleo, estudei primeiro Geologia, na Universidade de Moscou. Mais tarde, optei pela face econômica do petróleo. Vim para Harvard, onde fiz Economia e obtive mestrado e doutorado. Infelizmente, a fase dos estudos acabou. Trabalho agora na OPEP. Não sei se já ouviu falar de nossa organização.
– Vejo às vezes nos jornais. Então, é por isso que você mora em Genebra?
– Exatamente. Mas vamos nos transferir para Viena. A Áustria irá dar a nossa organização status diplomático. Nossa finalidade é defender os preços do petróleo.
Clarence não pôde deixar de pensar em Salomon Abramovitch. Al-Kabar continuou falando de si mesmo.
– Minha família, meus pais ainda estão vivos e bem de saúde, mora em Riad. Mas temos interesses no Norte, no Golfo. Quanto às nossas origens, somos beduínos. – O árabe omitiu o fato de que sua família possuía uma grande fortuna. – Mas, quanto ao amigo. Mora em Chicago ou Nova York?
– Bem, encontro-me em fase de transição. Por isso, continuo sem cartão de visita. Mas não será por muito tempo. Sou de Davenport, estado de Iowa, às margens do Mississippi. Minha mãe já morreu, mas meu pai, ele é irlandês, continua lá. Trabalhei em Chicago, no mercado de grãos. Agora, decidi vir para Nova York, onde irei trabalhar com ações. Estou terminando um período de treinamento. Daqui a algumas semanas, estarei na mesa de operações da Rodney, Drake. Para falar com franqueza – Clarence sentia-se à vontade com Abdul –, vim para Nova York para ganhar dinheiro, muito dinheiro.
Algum tempo depois, quando se efetivou na Rodney, Julius enviou a Genebra seu cartão de visita. Recebeu em resposta uma carta de agradecimento e, para sua grata surpresa, uma solicitação: Al-Kabar gostaria de abrir uma conta com ele para operar no mercado de ações.
Clarence enviou as instruções para a remessa de dinheiro. Poderia incluir o árabe em sua carteira de clientes, onde já constavam vários ex-colegas da Bolsa de Chicago, todos interessados em especular em Wall Street. Qual não foi sua surpresa quando recebeu, duas semanas depois, para depósito na conta de ações de Abdul al-Kabar, 1 milhão de dólares. Telefonou imediatamente para Genebra.
– Abdul, acho melhor esclarecer bem as coisas. Não sei se isso ficou claro para você, mas tenciono operar no mercado de maneira especulativa, correndo riscos. Por isso, me sentirei mais confortável se você me confiar uma importância menor. Que tal 100 ou 200 mil? Sempre existe a possibilidade de perder tudo. Vou trabalhar com opções. Elas podem ser perigosas.
A resposta não poderia ser mais clara.
– Julius, remeti 1 milhão porque você, quando jantamos no Waldorf, disse ter em mente operações de alto risco. Quero entrar em Wall Street. Por causa de meu trabalho, tenho me descuidado do dinheiro da família. Além disso, meu amigo, sei que você está apenas começando no mercado de ações, mas não fica bem para os Al-Kabar fazer negócios muito pequenos.
Clarence rendeu-se aos argumentos com naturalidade, como se fosse usual.
Wall Street não era muito diferente de Chicago. Os princípios que regiam o mercado de ações eram os mesmos que Julius conhecia, a fundo, desde seu início no pit de trigo. Por isso, não se impressionou quando ganhou dinheiro rapidamente.
Ao contrário dos outros novatos, não precisava procurar novas contas. Sua carteira, com seu próprio dinheiro, mais o de Al-Kabar, e dos clientes de Chicago, começara com 1 milhão e 400 mil dólares. Agora já passava de 1 milhão e 600 mil.
Enquanto os outros operadores perdiam tempo bajulando clientes, Julius observava exaustivamente o mercado. Consultava freqüentemente os analistas da empresa, para sua surpresa, de excelente nível. Uma garotada nova, recém-formada, cuja frustração era quase nunca ser consultada pelos operadores.
Clarence ocupava parte de seu tempo junto a eles, vendo seus gráficos, estudando os balanços das empresas, examinando o comportamento da economia. Em contrapartida, os analistas sempre o municiavam com notícias em primeira mão, mostrando-lhe as mudanças e inversões de tendências do mercado.
Assim, em pouco tempo, Julius apresentou, operando com ações, resultados tão bons quanto os que conseguira anteriormente em Chicago, negociando produtos agrícolas. Surgiram os primeiros comentários elogiosos, as carteiras cresceram.
No verão de 1964, Clarence já administrava 4 milhões de dólares. Para agilizar seu trabalho, exigiu e obteve dos clientes procuração total para comprar e vender ações, sem aprovação prévia. Pôde, então, dedicar-se exclusivamente às operações, com as quais se ocupava o dia todo. Não raro, dedicava os fins de semana a um estudo mais profundo do mercado.
As promoções sucederam-se rapidamente: operador júnior, sênior, assessor técnico. Antes do final do ano, já recebia o rebate máximo de 50%. Não se deu por satisfeito. Passou a cobrar, como faziam os veteranos, um percentual sobre os lucros do negócio. Os clientes, Al-Kabar à frente, não relutaram em pagar. Clarence estava sendo um grande negócio para todos eles.
Julius morava na 82, no East Side, junto à 3ª Avenida. No entanto, o apartamento tornava-se menor a cada dia, pois gostava de trabalhar em casa e sua biblioteca crescia muito. Além disso, com quase um ano de vida na cidade, o apartamento era dos mais movimentados, principalmente nas noites de sexta e sábado, quando os amigos, a maioria pessoal de mercado, ali se reuniam para beber, conversar e dançar.
Julius Clarence tornara-se rapidamente um membro do “clube”.
CAPÍTULO 20
O corretor de plantão preparava-se para fechar o escritório da Aaron & Samuels. O dia fora fraco. Poucos telefonemas. Menos de 10, ao longo de todo o expediente. Visitas a apartamentos, apenas duas, sem chances de negócio. Já ia apagar a luz quando o telefone tocou. Provavelmente, só mais um chato querendo quebrar a monotonia daquele sábado. Sem muito entusiasmo, pegou o aparelho.
Do outro lado da linha, Julius Clarence não perdeu tempo.
– Estou interessado em ver a cobertura com vista para o parque.
Andreas Schiros farejou a possibilidade de negócio. Marcou encontro com o pretendente, em 15 minutos, na portaria do prédio onde se localizava o apartamento.
O grego Schiros era veterano na profissão. À primeira vista, já avaliava as chances de uma venda. Por isso, ao ver o pretendente, quase girou os calcanhares e foi embora. Ali estava um garoto de pouco mais de 20 anos, usando jeans e tênis. Se tivesse chegado alguns minutos antes e visto Julius Clarence estacionar seu Lamborghini 350GT, motor V12, de 3.500 cilindradas, teria feito outra avaliação.
O corretor conhecia bem seu ofício. Sabia que as pessoas não compram apartamentos como se fossem bananas. – Vou levar este cacho. – Por isso, mal pôde acreditar, ao ouvir meia hora mais tarde:
– Vou ficar com ele. Deixo um sinal de 10 mil, o.k.? Na escritura, pagarei os restantes 110 mil. Certo, senhor... ? Como é mesmo seu nome?
– Schiros. Andreas Schiros. Deixe-me fazer o recibo do sinal. – O corretor não iria argumentar mais nada. Como todo vendedor experimentado, sabia respeitar a regra básica da profissão: “Depois do negócio fechado, qualquer argumento novo, além de não acrescentar nada à operação, pode fazer o comprador desistir.”
Julius interessara-se pelo tamanho e pela vista do apartamento. Não o preocupava o fato de o prédio ser velho e a cozinha e os banheiros serem antiquados. Certamente, o piso da sala estava em péssimo estado, as janelas eram pesadas e necessitavam algum esforço para ser movimentadas. Mas, embora fosse um homem extremamente bem-sucedido para alguém de sua idade, ainda não podia aspirar a um apartamento como os habitados pelos realmente ricos.
A localização era ótima, junto ao parque. Quanto aos problemas, nada em que um bom decorador não pudesse dar jeito. Por isso, após a escritura, Clarence informou-se a respeito de decoradores, alguém dotado de competência e bom gosto, mas não especializado no estilo suntuoso. Indicaram-lhe Claire Kellegher, muito apreciada pelo pessoal jovem. Marcou encontro com a decoradora para um sábado de manhã no novo apartamento.
Admirava a vista do Central Park quando a campainha tocou.
Claire Kellegher, arquiteta e decoradora de interiores, acostumara-se a provocar nos homens forte impacto à primeira vista. Com Julius, não foi diferente.
– Olá, você Tarzan, mim Jane, decoradora de cabanas nas árvores. Mas faço também alguns trabalhos aqui perto do parque.
A moça do lado de fora da porta, além de extremamente agradável e espirituosa, era do tipo alta, magra, pele muito clara, cabelos castanho-escuros ligeiramente ondulados. Seu olhar cor de mel penetrou fundo nos olhos azuis de Julius Clarence. Não parecia alguém necessitada de lutar para viver.
– Senhorita Kellegher, Claire, não, Jane. Sou Julius Clarence e estou louco para saber se alguém, sem levar todo o meu dinheiro, pode transformar esta velharia aqui em um apartamento de verdade.
– Bem, Julius, para isso existem os decoradores. Mas daqui do lado de fora não há nada que eu possa fazer.
– Ah, desculpe, entre, entre.
Só então ela pôde entrar no apartamento, fortemente iluminado pelo sol da manhã de outono.
Fosse um bom observador de detalhes femininos, Clarence teria percebido que tudo o que a moça vestia era compatível com o dia, a hora e a ocasião. Claire Kellegher usava jeans muito justos e uma camisa de seda branca. Roupas simples, mas de etiquetas caras. Como ornamentos, apenas um relógio Vacheron de ouro e um pequeno brilhante em cada orelha.
Durante mais de uma hora, os dois percorreram o apartamento, observando seus mínimos detalhes. Para cada peça, Claire oferecia sugestões. As cadeiras do terraço, os móveis da sala, as estantes do escritório.
– Acabo de me lembrar, Julius, não se importa se eu chamar você de Julius? Então, como ia dizendo, vi, numa loja da 34, uma escrivaninha vitoriana encantadora. Como é uma peça razoavelmente recente, o preço não vai deixá-lo arruinado. Imagino também que ainda não possua obras de arte significativas. Podemos, no lugar delas, usar gravuras e litografias. Mais tarde poderá substituí-las, aos poucos, quando iniciar uma coleção.
A personalidade esfuziante de Claire envolvera Clarence totalmente. Ela falava o tempo todo.
– Faça o favor de não me esconder nada. Quero saber tudo a respeito de seu trabalho, quem vai freqüentar o apartamento, que tipo de reunião você gosta de promover. Você pensa que decorar um apartamento é apenas colocar móveis, quadros, tapetes e cortinas?
Ela mesma respondeu:
– Nada disso. É preciso estudar a personalidade do cliente, o tipo de vida que leva, quanto está disposto a gastar. Só então dá para fazer um projeto.
– Você faz seu trabalho parecer um bocado atraente, garota. Acho que vamos nos dar bem. Mas venha ver meu quarto.
Quando chegaram à suíte, encostaram-se à parede, olhando para o cômodo vazio. Claire examinou o aposento e concluiu.
– Este quarto pede uma cama enorme. – E passou a descrever o móvel adequado ao aposento.
Talvez tenha sido casual. Talvez cada um dos dois tenha tomado um pouco da iniciativa. A princípio tocaram-se de maneira tão leve que apenas os cabelos das costas da mão de Clarence roçaram o antebraço de Claire. Ela aproximou-se um pouco mais. Começaram a falar do quarto, da cama, da cama, do quarto. Imaginaram coisas. Lentamente, escorregaram para o chão.
Julius virou-se de lado e mordiscou-lhe a orelha. Encostou seu sexo endurecido em suas coxas, as cavidades quase explodindo de tanto sangue. Desabotoou-lhe a blusa devagar, botão por botão. Acariciou os seios pequenos, beijou os bicos arredondados de cor rosa. Abriu o zíper da calça e colocou as mãos por dentro da calcinha de seda branca. Seus dedos sentiram a umidade do sexo da mulher. Livrou-se rapidamente de suas roupas. Beijaram-se com fúria.
Treparam loucamente no chão frio.
Apesar do início pouco profissional, nas semanas seguintes Claire desdobrou-se na decoração da cobertura. Dividia seu tempo entre lojas de móveis e decorações e o apartamento. Discutia com carpinteiros, eletricistas e toda espécie de profissionais. Ela sabia lidar com aquela fauna urbana. Davam-se bem. Estavam todos no mesmo negócio.
Claire Kellegher trabalhava no ramo de decorações de interiores, mas, certamente, não o fazia por necessidade. Seu pai, Jerome Kellegher, era um dos mais ricos empreiteiros da Costa Leste. Como todos os seus pares do mundo inteiro, Kellegher trabalhava para os governos. Do país, dos estados, dos municípios. Sabia exatamente quais congressistas devia agradar e de quais autoridades dependia. Era especialmente hábil em dialogar com os pequenos burocratas, aqueles que ninguém conhecia mas que tinham o poder de colocar o carimbo e a assinatura certos na hora necessária.
O velho Jerome era um mestre em seu negócio. Construía estradas, pontes, barragens. As gigantescas máquinas com o logotipo de sua empresa eram vistas da Geórgia ao Maine.
Julius e Claire passaram a ver-se constantemente. Ela o introduziu em outra Nova York, por ele desconhecida. Essa outra cidade incluía artistas, museus, pequenas lojas exclusivas, os salões da alta sociedade, leilões e vinhos de safras especiais. Claire quase sempre dormia com Julius na cobertura. Secretamente, passou a decorar o apartamento para si mesma.
Ao final de algumas semanas casaram-se em Reno, sem avisar ninguém. Para desgosto do empreiteiro, para quem o casamento da filha deveria ser um acontecimento nacional. Jerome Kellegher sempre sonhara em ver em sua casa, ao mesmo tempo, as autoridades de pelo menos 10 estados.
Com o casamento, a vida de Julius tornou-se ainda mais agitada. Nunca imaginara que alguém pudesse relacionar-se com tanta gente como sua mulher. Raros eram os dias sem uma festa, um coquetel, um vernissage. Claire conhecia pessoas dos tipos mais variados e gostava de reuni-las em torno de si.
Nas festas promovidas na cobertura do parque, o salão e o terraço viam-se povoados por estilistas de moda, artistas plásticos em ascensão, casais de gays, jornalistas da televisão, modelos, as pessoas da moda, enfim. Todo mundo adorava todo mundo loucamente.
Nessas ocasiões, Clarence era muito solicitado. Já sabia, desde os tempos de Chicago, que médicos e corretores de bolsa têm uma coisa em comum: as pessoas aproveitam uma apresentação para uma consulta grátis. Sempre dava alguns conselhos sobre investimentos. Isso o tornava popular.
A agitação social de Claire fez de Julius um homem permanentemente cansado, as olheiras denunciando as poucas horas dormidas. Raramente podia chegar em casa, tomar um banho, saborear uma dose de vodca, jantar e ver um jogo ou um velho western na televisão. Mal chegava ao apartamento e vinha ela.
– É bom se apressar, querido. Temos que ir ao teatro, Sweet Charity. Até hoje você não viu.
E, a um Julius desanimado, garantia:
– Tenho certeza de que já tinha avisado você. Enfim, marquei encontro com os Damgards e com os Sanders. Eles são podres de rico e podem ser bons clientes para você. Depois, um jantar rápido no Village. Prometo: no máximo, à meia-noite, estamos de volta.
À 1h30 da manhã, Julius chegava em casa, exausto, e desabava na cama.
O casal costumava passar os fins de semana na Nova Inglaterra, num gracioso chalé, pequeno mas muito bem localizado, presente de casamento do velho Jerome. O lugar era extremamente tranqüilo, não fosse pelo fato de Claire levar sempre alguns casais amigos.
Nos dias úteis, ela acordava ao meio-dia, enquanto Julius, desde as 8h, já estava na Rodney. Percebeu logo que sua mulher se dedicara à profissão de decoradora mais por modismo. Agora, seu interesse deslocara-se para a pintura. Por isso, não se surpreendeu quando, um dia, chegou em casa e encontrou em um dos quartos, agora transformado em ateliê, um negro alto e forte, completamente nu, a não ser por um ramo de oliveira preso à orelha. O homem permanecia estático, em cima de um pequeno pedestal, enquanto, em frente a ele, Claire enlevava-se em tintas e pincéis.
No outono de 1965 o casamento terminou. Sem discussões. Claire desejava mudar-se para Florença, Itália, para estudar pintura. Julius não suportava mais a maratona social. Queria apenas trabalhar. Prometeram um ao outro ser bons amigos.
Por essa época, Clarence já era consultor de investimentos. Comentários na empresa davam como certa, era apenas uma questão de tempo, sua promoção a vice-presidente. Mas ele tinha outras intenções. Falou delas a al-Kabar, cujas vindas a Nova York eram cada vez menos freqüentes.
– Abdul, preciso ter meu próprio negócio. Estou perdendo tempo e dinheiro lá na Rodney. Eles estão ganhando mais de 50 mil dólares por mês só com os meus clientes.
Finalmente, Julius decidiu-se. Reuniu todo o seu capital, 600 mil dólares, e fundou a Clarence & Associados. Levou consigo os mais talentosos operadores e analistas da Rodney, a quem deu uma pequena participação no negócio.
Ao terminar o ano de 1965, Clarence possuía a corretora e o apartamento. Se ainda estivesse em Davenport, seria um homem rico. Para Wall Street era ainda um peixe muito pequeno.
Várias inovações foram implantadas na nova empresa. Os clientes passaram a receber, todos os dias, os extratos de suas contas emitidos por um computador eletrônico, uma novidade em Wall Street. Foi criado o financiamento automático de investimentos. Por esse sistema, os clientes da Associados podiam usar ações de sua propriedade como garantia da compra de mais ações.
A empresa intermediava os empréstimos necessários. Julius os avalizava pessoalmente. Um investidor com 100 mil dólares em ações podia comprar outros 100 mil. Um bom negócio para todas as partes envolvidas, desde, claro, que o mercado continuasse subindo.
Clarence tratou de construir sua própria rede de informações. Seu departamento técnico, além de gráficos e análises de todas as ações negociadas nas bolsas, mantinha contato permanente com a direção das companhias importantes. Seus analistas viajavam pelo país, conversando com os dirigentes das empresas, informando-se de seus planos. Assim, descobriam, com bastante antecedência, as companhias que estivessem desenvolvendo novos produtos.
Graças a isso, os clientes da Clarence & Associados conseguiam ganhar muito dinheiro. O negócio prosperava. Julius enriquecia rapidamente.
Sua próxima ambição era possuir uma casa fora da cidade, morar junto ao campo, num lugar amplo onde pudesse receber seus amigos. Os imóveis estavam baratos e os bancos ofereciam hipotecas.
Na época já se comprometera bastante, devido aos avais que dava a seus clientes para comprar ações. Portanto, não seria prudente endividar-se. Mas a bolsa estava firme e a casa, à venda em Greenwich, Connecticut, era um imóvel pronto e mobiliado. O preço, apenas 300 mil dólares.
O banco financiava tudo e a mansão valia três vezes mais, mesmo no péssimo estado de conservação em que se encontrava, as paredes mofadas, os encanamentos podres, o mato crescendo em volta da casa. Mas era pegar ou largar. Julius pegou.
A casa servira de residência aos Dennehys por mais de 40 anos. Agora, com a morte do patriarca Walter Dennehy, dono do monopólio do cimento da Nova Inglaterra, seus herdeiros desejavam vendê-la rapidamente. Colocar logo a mão no dinheiro, sempre sonegado pelo velho sovina.
Desde sua saída de Davenport, Julius praticamente não parara de fazer e adquirir coisas novas. Novos empregos, novos negócios, o apartamento junto ao parque, agora a casa de Greenwich. Enquanto isso, no ranking de Wall Street, a Clarence & Associados ia galgando posições. As coisas não poderiam estar melhores.
Foi quando o mercado começou a cair.
CAPÍTULO 21
Desde o início de 1962, o mercado vinha subindo. Nem o assassinato de Kennedy afetara a bolsa, a não ser por alguns dias. O Índice Industrial Dow Jones dobrara nos últimos quatro anos. De 520 pontos para mais de 1.000.
Agora, naquele inverno de 1965/66, as ações começavam a despencar. “Uma saudável realização de lucros”, diziam os corretores, sorrindo nervosamente.
Enquanto a bolsa caía, os Estados Unidos envolviam-se cada vez mais no Vietnã. Os bombardeiros da Força Aérea despejavam milhares de toneladas de bombas em Hanói e ao longo da trilha Ho Chi Minh. Os soldados do exército e do corpo de fuzileiros lutavam no Norte contra as tropas regulares do general Giap. No Sul eram atacados pelos guerrilheiros vietcongues, tanto nas cidades como nas florestas do Delta do Mekong.
As imagens da guerra, crianças vietnamitas queimadas por napalm, corpos despedaçados de jovens americanos, apareciam diariamente na TV. Era impossível a bolsa de valores continuar subindo nesse cenário. Além do que a guerra custava muito dinheiro, dinheiro dos contribuintes. Aumentos de impostos tornaram-se uma constante. Para financiar o esforço de guerra, o governo colocava obrigações no mercado. Cada vez em número maior. Elevando as taxas de juros.
A crise afetou sobremaneira a Associados. Os negócios diminuíram, os clientes sofreram seus primeiros prejuízos. Muitos fecharam suas contas. Outros, tomadores de empréstimos nos bancos com aval de Clarence, não honraram suas dívidas, obrigando-o a pagar os débitos pessoalmente.
Julius pensou em vender a casa de Greenwich para fazer caixa, mas pouco lhe sobraria. Ainda devia quase toda a hipoteca.
Restava recorrer a Abdul al-Kabar. Viajou a Viena, onde ficava a nova sede da OPEP. Foi recebido pelo amigo no luxuoso edifício do Karl Lueger Ring.
– Preciso de 400 mil dólares para colocar na corretora. Senão eu quebro. – Clarence expôs sua situação, sem exagerar mas sem omitir nada.
Al-Kabar mostrou-se receptivo.
– Posso conseguir esse dinheiro. Mas veja, Julius, o capital é da família, não é só meu. Que garantias você pode nos oferecer?
– Nenhuma, Abdul. Somente as ações da Associados. Mas, se eu não conseguir levantar a empresa com esse empréstimo, elas não terão valor algum.
O árabe gostou da franqueza. E acreditava firmemente na competência do amigo. Deu alguns telefonemas, falando em árabe, diante de um Clarence ansioso. Quinze minutos depois, uma eternidade para Julius, sacou da gaveta um talão de cheques e preencheu um deles.
Saíram à noite para jantar, às margens do Danúbio, mas não falaram de negócios. No dia seguinte, Clarence retornou a Nova York.
Os 400 mil dólares foram insuficientes para cobrir os prejuízos. Nem assim Julius desistiu. Aumentou as taxas de juros que pagava sobre os saldos das contas dos clientes. Para níveis superiores aos de mercado. Se o preço das ações não subisse logo, quebraria. Como também quebraria se os clientes continuassem sacando.
De acordo com as normas legais, uma corretora podia pagar juros sobre os saldos dos clientes. Para isso, precisava comprar obrigações com o dinheiro das contas. Essas obrigações garantiam os aplicadores.
Clarence passou a usar um mesmo lote de obrigações como garantia de várias contas. Isso significava operar sem lastro. Se a bolsa não subisse logo, iria à falência e terminaria atrás das grades. A alta do mercado tornara-se vital para ele.
No final do verão, apostara todas as fichas que tinha – e as que não tinha também – no mercado de ações.
Então, a bolsa virou. Primeiro, parou de cair; depois, tomou rumo norte. Com força. Os preços subiram com a mesma violência com que haviam caído. Com os lucros, Julius cobriu os furos das contas correntes.
Clarence liquidou sua dívida com Abdul e voltou a Viena, desta vez para propor novos negócios. Voltou com 2 milhões de dólares para serem depositados na carteira administrada de al-Kabar.
O mercado continuou subindo. Todos voltaram a ganhar dinheiro. Clarence passara por seu batismo de fogo.
A Clarence & Associados tornara-se, aos poucos, uma corretora de porte, com grande volume de negócios. A administração foi colocada na mão de profissionais competentes. Julius ficou, como sempre ficaria, na direção da mesa de operações. Na linha de frente do mercado.
Sua vida pessoal encontrava-se totalmente desorganizada. Passava o dia todo no trabalho. Só ia ao apartamento para dormir. A casa de Greenwich era como se não existisse. Não fosse ele tão jovem, teria sérios problemas de saúde.
Claire retornara de Florença e mantinha ótimas relações com o ex-marido. Aconselhou Julius a viajar de férias. Ele gostou da idéia e foi para as montanhas do Colorado com uma amiga. Pela primeira vez em muitos anos, passou duas semanas sem acompanhar o mercado, sem rotina de horário. Voltou renovado a Nova York. Com muitos planos pela frente.
CAPÍTULO 22
Nos últimos três anos, embora se dedicando mais à bolsa de valores, Clarence não deixara de acompanhar os outros mercados. Vigiava constantemente os preços do ouro e do petróleo, não se esquecendo, nem por um instante, das profecias do velho Salomon. O velho sempre afirmara que esses dois mercados iriam criar as melhores oportunidades.
O ano de 1967 mal começara. No dia 27 de janeiro, a corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética pela conquista da Lua fez suas primeiras vítimas americanas. Os astronautas Grisson, White e Chaffee morreram em Cabo Kennedy, na explosão de uma cápsula da missão Apollo 1.
Clarence tinha apenas 26 anos. Aparentava um pouco mais, devido à barba. Para as mulheres era um tipo atraente, olhos azuis penetrantes, o vestir despretensioso, mas de maneira alguma desleixado. Distinguia-se pela simpatia e facilidade em relacionar-se com as pessoas.
No escritório, raramente permanecia em sua sala ou ocupava sua cadeira à mesa de operações. O mais freqüente era encontrá-lo passeando por trás dos diversos operadores. O principal homem de Clarence era o mais próximo.
Já há muito ansiava voltar a negociar produtos agrícolas, estudar previsões meteorológicas, verificar de perto o plantio. Aguardava apenas uma oportunidade.
Desde o início daquele inverno, os especuladores vinham apostando pesado no suco de laranja. Se ocorresse uma geada na Flórida, o preço poderia disparar. Caso contrário, cairia. Tal como em um cassino, os operadores jogavam no preto ou no vermelho.
Clarence também desejava participar, mas não às cegas, como a maioria. Procurou entre seus parceiros de negócio alguém relacionado com um esmagador de laranjas da Flórida. Finalmente, tendo conseguido a apresentação, seguiu para lá. Desembarcou em Orlando, ao encontro de Paul Spader, proprietário e administrador da Central Florida Citrus.
O industrial explicou-lhe como operava.
– Veja bem, Julius, existem milhares de plantadores no estado, mas esmagadores, só dois: eu e o Alan Scacchi, da Sunshine State Crushers – apontou o dedo para o peito de Clarence.
– Seu negócio é especular com os preços. O meu é mais simples. Nesta época do ano, vendo a metade de meu suco no mercado futuro de Nova York. Em março, vendo a outra metade. Se tiver ocorrido geada, por muito mais. Se não, por um preço menor. Fico sempre vendido no preço médio de mercado. Não sei se está me acompanhando.
Clarence sorriu, lembrando-se de um passado não muito distante.
– Na verdade, Paul – apressou-se em esclarecer –, muito antes de operar nas bolsas, eu já conhecia o mercado visto pelo lado de vocês, produtores. Comecei a trabalhar bem cedo, negociando grãos para os agricultores de Iowa. Meu pai, ele agora está aposentado, fez isso a vida toda.
Spader ficou satisfeito.
– Então, você entende o que eu digo. Dessa maneira, toco meu negócio. O Scacchi, da Sunshine, é meu único concorrente. Mas trabalhamos sincronizados. Tomamos todas as decisões importantes de comum acordo.
– Se estou entendendo bem, vocês têm um negócio perfeito.
– Tínhamos, tínhamos. Agora, chegou um grupo do Norte para concorrer conosco. Estão montando uma unidade esmagadora enorme. E não querem conversa. Vão puxar o preço para conseguir a maior quantidade possível de laranjas. Eu já disse ao Scacchi: “Esses caras vão apertar nossos colhões.” Por isso, nós agora precisamos de muito dinheiro para comprar o máximo de laranjas possível, antes de eles entrarem no mercado. Quando começarem a operar, se meu plano for posto em prática, eles vão ter que comprar de nós, ou não vão ter nada para esmagar. A não ser seus próprios colhões. Entendeu?
– E de quanto estão precisando? – O interesse de Clarence era visível, embora desconfiasse que a soma em questão estivesse além de suas possibilidades.
– Precisamos de 14 milhões de dólares para dar um sinal aos agricultores. Com isso, eles contratam os apanhadores, para o trabalho manual. É preciso catar fruta por fruta. Garantimos, assim, toda a safra para nós a um preço muito baixo. Quem nos financiar terá esse monte de laranjas como garantia. Estamos conseguindo esses preços porque a safra vai ser recorde e os citricultores têm medo do encalhe. Essa grana pode ser quadruplicada em três meses, quando os caras do Norte começarem a operar.
Dito isso, Paul olhou para os lados, como se alguém pudesse estar ouvindo a conversa, chamou Julius mais para perto, baixou a cabeça e cochichou:
– Não podemos simplesmente procurar um banco e pedir o dinheiro. Meu trato com o Scacchi... bem, nosso trato não está muito de acordo com a lei antitruste. Por isso, preferimos fazer as coisas particularmente, sem alarde.
A possibilidade de reunir tal quantia era remota, mas Clarence não deu mostras disso. Continuou ouvindo. Spader chamou o Scacchi, da Sunshine, e os três foram almoçar. Os industriais fizeram uma exposição detalhada da operação.
Julius ficou impressionado. Nunca tivera oportunidade melhor a seu alcance. Controlar uma safra inteira. Ser o dono do mercado. Ali estava a chance de dar um salto gigantesco para a frente. Mas onde conseguir os recursos? Al-Kabar! Teria que ser com ele.
Ao final do almoço, Paul foi claro e objetivo.
– Dou-lhe uma semana para tentar, com aqueles especuladores de Wall Street, arranjar os 14 milhões. Se conseguir, faremos um contrato particular e rachamos o lucro, meio a meio.
CAPÍTULO 23
Clarence demorou-se em Nova York apenas o tempo necessário para juntar algumas roupas e telefonar para Abdul. Explicou rapidamente seu plano e embarcou para Viena, onde ele o recebeu no Aeroporto Schwechat. Ouviu surpreso o convite do árabe.
– Tenho um jatinho nos esperando para decolar. Julius, desta vez a coisa é grande demais. Precisamos conversar pessoalmente com meus parentes. Você vai ter que convencê-los. E, desde já, vou alertando. Vai precisar usar toda a sua capacidade de persuasão, que, sei, não é pequena. Eles são desconfiados. Vão exigir garantias para arriscar tudo isso.
Meia hora depois, o Lear Jet fretado, com tanques extras de combustível nas extremidades das asas, voava para sudeste, a quase 900 quilômetros por hora. Sobrevoaram os Bálcãs, o Mediterrâneo e entraram na península Arábica, voando, primeiro, sobre o Líbano e, depois, sobre a Cisjordânia, futuro palco da guerra entre árabes e judeus, alguns meses depois, ainda naquele ano de 1967.
Enquanto voavam, Julius explicou o empreendimento a al-Kabar, os valores envolvidos, as garantias, o potencial de lucro.
O sol de inverno já se punha quando o Lear iniciou a aterrissagem no Aeroporto Internacional de Riad. Clarence via, pela primeira vez, a beleza e a imensidão do deserto. Viajara sem parar, desde o início da noite anterior, e sentia-se cansado. Estava excitado também. Queria muito fazer aquele negócio. Mais do que qualquer coisa na vida, até aquele momento.
Mas a maratona não terminara. Outro avião os aguardava, desta vez um bimotor Beechcraft Baron. Duas horas mais tarde, aterrissavam em um pequeno campo de pouso, balizado com tachas, no Rub’al-Khali, o “lugar vazio”. Dali, dessa terra tão inóspita quanto a imensidão das estepes siberianas, se originavam os beduínos, cujo nome, badawiyin, significa moradores do deserto.
Devido ao cansaço de Julius, Abdul deixou as apresentações para o dia seguinte. Surpreso com o frio reinante à noite no deserto, e com o conforto da tenda a ele destinada, Clarence abandonou-se exausto sobre os luxuosos tapetes e almofadas, sua cama para aquela noite.
No dia seguinte, bem cedo, Julius conheceu o pai e alguns tios de Abdul. Travou também seu primeiro contato com a hospitalidade beduína.
O pai de Abdul, Aziz, era pessoa de porte e olhar impressivos. Mais alto que o filho, barba branca bem cuidada, o velho Aziz apresentou os outros parentes. Depois, falou do deserto e das origens da família.
– Amigo estrangeiro. Os ocidentais conhecem muito pouco esta região. Só se interessam pelo lado leste da península, onde estão as reservas de petróleo. E também a maioria dos negócios de nossa família. Mas nossos antepassados viveram neste deserto. Como o petróleo mudou muito nossas vidas, é importante voltar aqui, de vez em quando, para lembrar nossas origens, assim como vamos a Meca pedir a Alá perdão para nossos pecados.
Apesar da pronúncia sofrível, o inglês do pai de Abdul era fluente.
– Nossa hospitalidade tem origem aqui no deserto – continuou explicando. – Quando os viajantes nômades chegam a uma aldeia ou acampamento, o fazem no limite de seus recursos de água e de alimentos. O mesmo ocorre com os camelos. – Olhou, então, diretamente nos olhos de Clarence.
– Meu filho tem negociado com ações por seu intermédio. Diz que você é sério e esperto. Duas coisas difíceis de conciliar. Parece que, desta vez, deseja obter um financiamento para um projeto ambicioso e ousado. Vamos ouvi-lo com atenção. Todos aqui entendem inglês. Muitos estudaram na Inglaterra. Mais tarde, quando o calor do sol for embora, poderá explicar tudo. Enquanto isso, venha conhecer o deserto. Poucos estrangeiros conhecem esta região.
Ainda pela manhã, antes do calor se tornar insuportável, montado sobre um camelo e acompanhado de pai e filho, Julius foi levado a conhecer uma aldeia.
Embora fosse um bom cavaleiro, sentiu-se inseguro sobre a sela que oscilava no ritmo dos passos do camelo. Sentiu-se um pouco ridículo também, em suas tentativas de segurar-se a alguma coisa que lhe parecesse firme o bastante.
Até onde a vista podia alcançar, a paisagem compunha-se unicamente de areia e dunas.
Após meia hora chegaram a uma região rochosa onde, milagrosamente, crescia uma vegetação retorcida. Havia ali um poço, em torno do qual se erguia uma aldeia; algumas cabras pastavam o mato ralo que brotava entre as pedras. Ao americano parecia impossível seres humanos sobreviverem com tão pouco.
À hora do almoço, provou vários pratos típicos da culinária beduína e ouviu histórias do deserto.
– Nós, beduínos, somos formados na resistência às intempéries e às vicissitudes. – O velho Aziz gostava de falar sobre seu povo.
Clarence gostou do que viu e ouviu.
Depois do almoço, todos se retiraram para repousar à sombra de suas tendas.
Pouco antes do anoitecer, o sol avermelhou o céu e o deserto se preparou para mais uma noite de frio. Fogueiras foram acesas. Só então Julius pôde explicar por que viera de tão longe. Mas, antes, falou um pouco de si mesmo.
– O lugar onde nasci é tão diferente deste aqui como a terra do mar. Lá, as chuvas são abundantes, o solo é fértil, basta jogar as sementes e depois fazer a colheita. Mas, apesar da fartura, eu trabalho desde menino. Meus pais vieram da Irlanda, e lá, durante séculos, os homens do campo sempre trabalharam duro para garantir a sobrevivência. Assim, desde cedo, eu entendo o significado do trabalho e da perseverança.
Clarence sentia-se bem falando àqueles homens, alguns de cócoras, outros sentados sobre tapetes estendidos sobre a areia, iluminados apenas pelas estrelas e por algumas lamparinas bruxuleantes, aqui e ali. Falou-lhes por quase uma hora, demonstrando a operação que o trouxera de tão longe. Quando terminou, afastou-se do grupo, deixando os Al-Kabar discutirem o assunto em particular.
Aguardou a resposta, de pé, diante de sua tenda, fumando e olhando as estrelas. Não pôde deixar de lembrar-se de Davenport. Quase 12 anos já se haviam passado desde o dia em que se dirigira aos plantadores de soja, sentado sobre o balcão do armazém de seu pai. Lembrou-se dele. Estava em falta com seu velho irlandês.
Não demorou muito e Abdul apareceu. O cenho franzido prenunciava problemas.
– O.k., Julius, decidimos confiar em seu julgamento. Você vai ter os 14 milhões.
– Excelente, não se arrependerão. – Clarence estava exultante, mas continuava percebendo algo de errado.
Abdul prosseguiu.
– Nossa família está satisfeita com sua eficiência na administração de nossos fundos. Também acreditamos no sucesso do financiamento das laranjas. E isso nos parece ser apenas o início de uma sociedade duradoura e muito lucrativa. Entretanto, queremos manter tudo em segredo absoluto.
Os dois, agora, estavam sentados sobre a areia. Clarence ainda não percebia aonde o amigo queria chegar.
– Veja, Julius, temos muitos negócios com os americanos. São os maiores compradores de nosso petróleo. Tudo leva a crer que, no futuro, muitas vezes estaremos em campos opostos, principalmente em questões políticas. E a política não deve atrapalhar os negócios.
Julius percebeu, então, um leve sinal de emoção nas palavras de Abdul. Este colocou a mão sobre o ombro do americano e disse com firmeza:
– A partir de agora só nos veremos quando for indispensável. Não nos reuniremos mais. Se nos encontrarmos por acaso em algum lugar, isso é possível e até provável, nos trataremos formalmente. Você passará a acertar nossas contas através de nosso advogado.
Estendeu um cartão a Clarence.
– Procure-o em Londres. Amanhã cedo, ele já terá recebido instruções referentes ao assunto da Flórida. Fará também uma proposta de sociedade conosco.
O árabe fez uma última pausa e concluiu:
– Se, algum dia, eu tiver uma informação importante para sua atuação no mercado, você será contatado por uma pessoa de minha confiança. O nome dela é Sandra. Fica baseada em Düsseldorf.
O sol despontava quando o Baron decolou rumo a Riad. A bordo, somente Clarence e os pilotos. Abdul, de pé ao lado da pista, fez uma última saudação.
CAPÍTULO 24
Basil Kennicot era um advogado tão próspero quanto discreto. À porta de seu luxuoso escritório em Holborn, apenas uma pequena placa dourada indicando nome e profissão. Há muitos anos não comparecia aos tribunais. Assim como seu pai e, antes, seu avô e bisavô, Kennicot cuidava da constituição de sociedades, da fusão e do desmembramento de empresas.
Se alguém pudesse examinar os arquivos do escritório, guardados em uma sala especial, tão inexpugnável quanto um cofre-forte, descobriria preciosidades, como a constituição de um banco na Suíça para o governo da União Soviética. Se consultasse as pastas mais antigas, veria a ata da fusão, em 1907, de uma empresa inglesa, chamada Shell – que importava conchas e outras bugigangas de vários lugares do mundo –, com a Royal Dutch, uma companhia holandesa com plantações de tabaco em Sumatra. Como esclarecia o documento, tal associação destinava-se à exploração de petróleo em Baku, no Azerbaijão, e nas ilhas do extremo sul da Ásia.
Membros ou representantes de famílias notáveis, como os Rockefellers, os Hunts, os Nobels e os Rothschilds, haviam passado, quase sempre de maneira discreta, pelo escritório no qual, agora, o jovem empresário americano Julius Clarence aguardava impaciente o encontro com Kennicot, marcado para as 9h da manhã.
Precisamente a essa hora, uma porta se abriu e o advogado, com um sorriso largo, se apresentou, estendendo a mão.
– Já sabia que o senhor era jovem, mas, de qualquer maneira, me surpreendo. Desculpe-me por não tê-lo atendido ontem à tarde. Não o fiz justamente porque não tinha ainda preparado a papelada que precisa assinar, caso concorde com seus termos, é evidente. Meu pessoal trabalhou muito, durante a noite, nas minutas desses contratos.
O advogado, então, conduziu Clarence a outra sala, onde foram servidos de chá e café.
– Recebi instruções – explicou – da família Al-Kabar, da Arábia Saudita, para providenciar uma carta de crédito, no valor de 14 milhões de dólares, em seu favor. Essa quantia, pelo que fui informado por meus clientes, destina-se à compra de uma grande quantidade de laranjas no estado da Flórida. Estou certo, senhor Clarence?
– Está, senhor Kennicot. Trata-se do financiamento do sinal para a compra de toda a safra de laranja daquele estado por duas indústrias esmagadoras, a Central Florida Citrus e a Sunshine State Crushers. Viajei até a Arábia para propor a operação. Eles concordaram com o negócio, mas falaram algo sobre sociedade. Segundo Abdul al-Kabar, caberia ao senhor formalizar uma proposta.
– Certo, certo, farei isso agora, procurando tomar a coisa bem simples. Meus clientes investem os 14 milhões. Segundo seus cálculos, essa aplicação irá quadruplicar em três meses, o que não é nada mau, se me permite a observação. Teremos algo em torno de 56 milhões. Subtraímos os 14 iniciais e sobrará um lucro de aproximadamente 42 milhões de dólares. Os números estão corretos?
– É exatamente o que eu propus lá no deserto.
– Muito bem, então posso continuar. O lucro de 42 milhões de dólares será dividido em duas partes iguais. Vinte e um ficam com os industriais da Flórida e os outros 21 serão divididos entre o senhor e a família Al-Kabar, metade para cada uma das partes. Digamos, para simplificar, 10 milhões.
– É esta a conta, senhor Kennicot.
– Ótimo, ótimo, a operação deveria encerrar-se aí não fosse um fato relevante: meus clientes desejam usar todo o lucro da transação para aumentar o capital de sua empresa em Nova York, a Clarence & Associados, ficando eles com metade das ações. Concordam em participar sob a forma de ações preferenciais, sem direito a voto. Os Al-Kabar desejam ser sócios do senhor, mas não têm a pretensão de interferir em sua administração.
Julius esperava uma proposta de sociedade, o próprio Al-Kabar lhe havia dito. Mas não um sócio meio a meio. Era difícil saber quem era o esperto: Abdul ou o inglês. Provavelmente os dois. Ter um sócio com metade do capital era algo que nunca imaginara. Por outro lado, Kennicot não parecia disposto nem autorizado a abrir mão de nada. Então eram aqueles os termos de Abdul al-Kabar. Restava saber se ele, Julius, em algum momento no futuro, teria o direito de recomprar as ações dos árabes.
O advogado pareceu adivinhar-lhe o pensamento.
– De acordo com uma minuta de contrato, eu a tenho aqui, o senhor poderá comprar as ações da família Al-Kabar desde que lhes pague seu valor em ouro, multiplicado por cinco. As ações equivalem hoje a 300 mil onças. Para recomprá-las, o senhor terá que desembolsar o equivalente a 1 milhão e 500 mil onças de ouro.
Clarence pensou rapidamente. Seria quase impossível recomprar as ações por cinco vezes seu valor atual, convertido em ouro, levando em conta a previsão do velho Salomon Abramovitch de que o mercado iria subir muito. Portanto, seria sócio dos árabes para sempre.
Por outro lado, após a jogada da Flórida, para a qual o dinheiro de Al-Kabar era imprescindível, a Clarence & Associados se tornaria uma empresa grande, como sempre sonhara.
Finalmente havia o petróleo. Al-Kabar era um dos dirigentes da OPEP. Julius poderia valer-se de suas informações privilegiadas. O próprio Abdul lhe insinuara isso.
– Temos um negócio, senhor Kennicot. Pode preparar os contratos.
– Foi o que pensei. Para ser honesto, senhor Clarence, ficaria desapontado se sua resposta fosse diferente. Mas restam alguns detalhes.
Kennicot informou, então, que, a partir daquela data, cópias de todos os balanços, reuniões de diretoria e decisões estatutárias da Clarence & Associados deveriam ser enviadas a seu escritório em Londres. Quanto aos dividendos, deveriam ser depositados em uma conta na Suíça, cujo número o advogado teria em poucas horas.
Finalmente quando Julius pensou que tudo estava acertado, Kennicot revelou a derradeira exigência.
– Uma última cláusula, senhor Clarence. Caso sua corretora apresente prejuízo por três anos consecutivos, seus novos sócios terão direito de comprar as ações do senhor por metade de seu valor contábil.
Julius rebateu prontamente:
– Senhor Kennicot, se minha empresa perder dinheiro por tanto tempo, o melhor que tenho a fazer é voltar para o armazém de cereais de onde saí, em Iowa.
Agora, todas as cartas estavam na mesa. Julius Clarence passava a ser sócio da família Al-Kabar, mas continuava a administrar a corretora a sua maneira.
– Aceite minhas congratulações, senhor Kennicot. O senhor é um mestre. Fico satisfeito quando conheço um.
O advogado leu, então, em tom solene, as condições contratuais, enquanto Julius lia uma cópia simultaneamente. Ao final da leitura, e sem que tivesse feito um só aparte ou pergunta, Julius assinou todas as folhas. O advogado assinou embaixo, como representante da outra parte.
Ao se despedirem, Kennicot acrescentou:
– Qualquer comunicação com os novos sócios deverá ser feita por meu intermédio. Estarei sempre a sua disposição. Desnecessário dizer, senhor Clarence, nosso negócio é secreto. Para todos os efeitos, uma sociedade anônima européia comprou ações preferenciais, sem direito a voto, de sua empresa, injetando capital suficiente para que o senhor possa conduzir melhor seus negócios.
Graças ao sinal de 14 milhões de dólares, pago aos citricultores, a Clarence & Associados, a Central Florida Citrus e a Sunshine State Crushers garantiram para si o direito de compra de 80% da safra da Flórida pagando apenas 84 centavos por caixa.
Quando a Eastern American começou a operar, Clarence e seus parceiros puxaram os preços violentamente. Os novos esmagadores viram-se obrigados a pagar 3 dólares por cada caixa de laranjas. Mas o pior momento da Eastern ainda estava por acontecer. Não ocorrera nenhuma geada naquele inverno, proporcionando uma safra generosa. Após vender as laranjas para a Eastern, Clarence e seus sócios derrubaram as cotações do suco congelado na bolsa em Nova York.
No dia 28 de março de 1967, o preço da libra-peso de suco chegou a 28 centavos, a menor cotação desde que aquela mercadoria era negociada na bolsa. A Eastern, evidentemente sem condições de vender por aquele preço, encerrou suas atividades, causando grande prejuízo às pessoas que haviam investido na empresa e a vários bancos da Flórida e de Nova York.
Um banco de Lausanne, Suíça, também sofreu pesadas perdas.
A operação rendeu 36 milhões de dólares, dos quais a Clarence & Associados ficou com a metade.
Julius Clarence, com apenas 27 anos, tornara-se um milionário. Ganhara também seus primeiros inimigos. Alguns, ele os conhecia bem. De outros, distantes e muito mais ameaçadores, sequer suspeitava. Em Lausanne, o Sindicato, financiador da Cia. Eastern, sentira-se prejudicado.
Só então Julius passou a usufruir de sua mansão, totalmente reformada com a ajuda de Claire.
O condado de Greenwich situava-se a menos de uma hora de distância de Manhattan quando o trânsito estava bom. Fora eleito pelos ricos, desejosos de gozar a vida tranqüila do campo, sem deixar de comparecer diariamente a seus escritórios de Manhattan.
Durante a semana, Clarence passou a dormir ora em Manhattan ora em Greenwich, o que, geralmente, decidia no final da tarde. O pessoal da casa recebeu instruções para estar sempre preparado para a possibilidade de sua chegada.
Os fins de semana eram passados em Greenwich, a não ser quando algum compromisso o prendia em Manhattan.
Seus problemas domésticos foram entregues às mãos competentes de Diane, uma jovem negra retirada da custódia de valores da corretora e promovida ao cargo de secretária particular e, a partir de então, encarregada dos assuntos referentes a sua vida pessoal. A extrema discrição da funcionária, quando a corretora se vira forçada a operar sem lastro, a recomendava como alguém em quem se podia confiar.
Diane demonstrou eficiência como administradora doméstica. Jesus, um mordomo filipino, foi colocado por ela na direção da cobertura. Uma governanta mexicana, Teresa, foi encarregada da casa em Greenwich. A secretária contratou também Antoine, senegalês e antigo boxeador peso-pesado, apto a servir como motorista e também como guarda-costas, se necessário.
A residência de Connecticut era ampla, em meio a gramados e jardins, cercada por árvores que a protegiam de olhares indiscretos. Os aposentos particulares de Clarence e as suítes reservadas aos hóspedes situavam-se em alas distintas. Uma imponente sala de jantar, em estilo inglês, o salão e a sala de música, voltados para o terraço fronteiro à casa, destinavam-se às festas que Julius começou a promover com alguma freqüência. Outras salas, menores e mais acolhedoras, eram as preferidas pelo dono da casa e seus amigos.
Havia também uma pequena cocheira, embora Julius não possuísse cavalos. Tudo domínio da mexicana Teresa.
A querência de Julius, na casa, era a biblioteca. Gostava do cheiro peculiar desprendido pelas estantes em carvalho polido e pelos livros encadernados em couro macio deixados pelos antigos proprietários, aos quais acrescentou os seus.
Clarence começou a adquirir quadros, a princípio como investimento. Aos poucos foi tomando gosto. Tornou-se um prazer freqüentar leilões e galerias. Seus quadros preferidos, aqueles aos quais se afeiçoara especialmente, ficavam reservados à biblioteca, assim como a coleção de peças etruscas, também adquirida dos Dennehys, agora uma fonte de orgulho.
A biblioteca dava diretamente para o escritório. Dali Julius falava com o mundo inteiro. Era um dos poucos corretores, à época, a manter em casa um terminal de vídeo com as cotações das bolsas e também um teletipo, transmitindo ininterruptamente as notícias das principais agências.
A cobertura junto ao parque pouco mudara desde a época de Claire. Apenas alguns quadros foram acrescentados. A única modificação substancial aconteceu no estúdio da ex-mulher, transformado em escritório, equipado como o de Greenwich para o acompanhamento do mercado.
Existia um ciúme disfarçado entre Jesus e Teresa. Ambos esforçavam-se para que o patrão permanecesse o maior tempo em seus domínios, embora isso lhes aumentasse o trabalho. As despesas das duas casas, assim como o salário dos empregados particulares, eram pagos e controlados por Diane.
Clarence possuía hábitos característicos de uma personalidade dividida. Não mantinha, em sua vida pessoal, a disciplina, a lógica e a paciência demonstradas na condução de suas operações de mercado. Dormia pouco. Estava sempre querendo fazer alguma coisa nova.
Saía com muitas mulheres. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, dormia com alguma garota, geralmente no apartamento de Manhattan. Não se fixava particularmente em nenhuma.
Não gostava das festas e salões do beautiful people. Raramente os convidava ou freqüentava, apenas o bastante para ficar em dia com suas obrigações sociais. Mas gostava de receber hóspedes e visitantes em Connecticut nos fins de semana.
Era um compulsivo em questões de trabalho, metódico e determinado, perseguindo sem descanso seus objetivos. Em casa ou no escritório, mesmo nos fins de semana, acompanhava os mercados do Extremo Oriente, à noite, e os da Europa, muito cedo pela manhã.
Além do trabalho, gostava de viajar, sempre viagens curtas, sem se desligar dos negócios. Julius Clarence gostava da vida, principalmente da sua.
Ele e Claire encontravam-se ocasionalmente, mas nunca mais houve sexo entre os dois. Apenas bons amigos, como se dizia em Hollywood.
No outono de 1967 morreu, subitamente, o velho Bruce. Julius levou Claire a Iowa para os funerais e, antes de deixarem Davenport, mostrou-lhe o antigo armazém de cereais.
CAPÍTULO 25
Desde o início do século, o Banco Centro-Europeu de Lausanne administrava grandes fortunas. Segundo rumores, só do nazista Hermann Goering, morto na prisão de Spandau, em Nuremberg, a instituição herdara uma conta cujo montante equivalia, agora, a mais de 100 milhões de dólares.
A administração não questionava a origem dos recursos nele depositados. A única exigência era um depósito mínimo de 20 milhões de dólares e uma autorização conferindo-lhes poderes totais para aplicar esses valores livremente.
Até agora ninguém se queixara. O Centro-Europeu era muito eficiente na administração de investimentos. Contratava os melhores analistas e operadores. No meio bancário era conhecido como O Sindicato.
O banco operava em todos os mercados: ações, obrigações, moedas e mercadorias. Salvaguardadas as leis suíças, aceitava participar de qualquer negócio.
A falência da Cia. Eastern American, de processamento de laranjas, acarretara prejuízos ao Sindicato, sem peso para alterar substancialmente os resultados das carteiras no final do ano, mas suficientes para merecer a inclusão do episódio na reunião do comitê diretor, onde seriam analisados os motivos do insucesso.
O financiamento da Eastern era um assunto importante. Se a operação houvesse logrado êxito, teriam assegurado o monopólio da produção do suco na Flórida, com a falência da Central Florida Citrus e da Sunshine State Crushers. Poderiam, depois, repassar o negócio a uma grande indústria de alimentos da Suíça. O tiro saíra pela culatra e o comitê examinaria as razões do fracasso.
Havia outras razões para se reunirem naquela manhã de primavera. O encontro duraria o dia inteiro. O almoço seria servido ali mesmo. Discutiriam, além do caso das laranjas, os bons resultados da operação de cobre, as contas novas e a escolha do novo operador. Seriam examinados resultados e balancetes do banco.
Pontualmente às 9h, os cinco membros do Comitê Diretor do Banco Centro-Europeu de Lausanne iniciaram sua sessão deliberativa.
A mesa redonda não permitia divisar qualquer hierarquia entre os presentes. Cada um recebeu, no início da reunião, um sumário dos itens a serem deliberados. Recebeu também um bloco de rascunho. Ao final da reunião, tudo seria destruído em uma máquina de picar papéis.
Como o primeiro assunto a ser tratado seria o caso do cobre, Jean Lesneur, responsável pelo setor operacional, deu início aos trabalhos.
– Senhores, a excelente operação de venda, a descoberto, de cobre, na Bolsa de Metais de Londres, só está sendo discutida nesta reunião porque, para proteger nossos interesses, foi necessário denunciar ao FBI a tentativa de explosão de uma ponte ferroviária na Zâmbia. Se algum dos senhores não sabe, a Zâmbia é o segundo maior produtor mundial de cobre. Dois espertalhões – um deles chama-se Rolf Duembier, é um alemão naturalizado americano, o nome do outro é Jay Aubrey Elliot, também americano e mergulhador profissional –, bem, esses dois aventureiros estavam prestes a destruir uma ponte ferroviária sobre o rio Zambeze. Como sobre a ponte passa todo o metal extraído em Zâmbia, se eles obtivessem sucesso, faltaria cobre em Londres. Nossas carteiras teriam sofrido grandes perdas. Os dois americanos estavam sendo pagos por alguns especuladores com posições compradas no mercado futuro da bolsa de metais. Graças a Otto, o complô foi descoberto e denunciado.
Todos se voltaram para Otto Behr, responsável pelo setor de inteligência. Este aproveitou o ensejo para acrescentar:
– Felizmente o FBI ficou com o mérito da descoberta da sabotagem. Mas o senhor Hoover tem idéia de onde veio a informação. Pode ser útil no futuro.
Gustave Thayer, diretor responsável pela captação de clientes, pigarreou forte para ser ouvido por todos.
– Bem, o próximo assunto é comigo. Os saldos das contas da América Central e do Caribe estão baixando. Leonidas Trujillo, da República Dominicana, foi assassinado há seis anos. Seus herdeiros – o mais velho, Ramfis, sucedeu ao pai mas foi logo deposto pelos militares, é agora um playboy internacional –, mas, como ia dizendo, os herdeiros de Trujillo não fazem depósitos, só saques. Desconfiam uns dos outros e fazem muitas perguntas ao banco. E, pior, falam muito.
Com exceção de Otto Behr e Gustave Thayer, os diretores do Sindicato não viam muita diferença entre os países da América Latina. Para eles eram todos miseráveis, cheios de plantações de bananas e com um general corrupto no poder, saqueando os cofres públicos. Mas Thayer conhecia os detalhes de cada um deles e tinha prazer em explicá-los aos colegas. Prosseguiu:
– Na Nicarágua, Somoza, o filho – o pai também foi assassinado em 1956 –, está no poder. Mas não deve durar muito. Fulgencio Batista, de Cuba, já está no exílio há oito anos. Gasta uma fortuna com sua segurança pessoal. Tem medo de que Castro mande matá-lo. Também se limita a sacar. François Duvalier, do Haiti, ainda faz depósitos regulares, mas os cofres do país estão se esvaziando. Resumindo: o filão está se esgotando. Está na hora de encerrarmos essas contas. Com discrição, mas com firmeza. Felizmente, temos novos clientes, muito promissores. Gostaria de me estender um pouco mais sobre o assunto e informar a todos de onde está vindo a captação nova.
Thayer serviu-se de um bloco onde fizera algumas anotações.
– Vou começar pelo Leste aqui da Europa. Os comunistas da Alemanha Oriental enviam quase tanto dinheiro quanto os naz..., quero dizer, o pessoal das décadas de 1930 e 1940. Erich Honecker – chefe das forças de segurança – tem uma conta promissora. Na opinião de Otto, ele vai suceder a Ulbricht. Nicolae Ceausescu, da Romênia, e sua mulher Elena, ele é secretário-geral do partido e vai assumir a presidência ainda este ano, estão fazendo depósitos regulares. Senhores, até a Albânia! Enver Hoxha – ele governa a Albânia desde a libertação, em 1944 – tem sido uma agradável surpresa. O melhor desses homens do Leste é que não retiram nada. São praticamente donos de seus países. Todos os seus gastos são pagos pelos cofres públicos.
Os membros do comitê sabiam que o colega da captação viajava constantemente ao Leste. Por isso, embora satisfeitos com as informações de Gustave, não se surpreenderam com os resultados de suas viagens. Conheciam de sobra sua competência. Thayer continuou:
– Mas não é só da Europa que o dinheiro novo está vindo. Temos também novidades das Filipinas. O casal Marcos, eles estão há dois anos no poder, bem, os Marcos fizeram uma viagem de férias às ilhas Seychelles. De lá, abriram uma conta, no valor simbólico de 200 mil dólares. Tive um bom pressentimento e aceitei o depósito, apesar de essa quantia ser abaixo de nossos padrões. Acertei na mosca. Passaram-se apenas alguns meses e começaram a chegar novas remessas, vindas de empresários locais. A conta já passa de 40 milhões.
Uma campainha soou baixo na sala de reuniões. Passados alguns minutos, um copeiro entrou, trazendo café, chá, pequenos sanduíches e água mineral. Enquanto comiam, os dirigentes do Sindicato conversaram sobre assuntos triviais. O diretor administrativo, Mark Monpère, recomendou a seus colegas um concerto de Pablo Casals, a que assistira na véspera.
– El Pesebre é imperdível – disse ele. – Se um de vocês estiver interessado, vai haver outra apresentação, depois de amanhã, em Genebra. Os ingressos estão esgotados, mas sempre se dá um jeito. – O Centro-Europeu mantinha reservas constantes nos melhores espetáculos. Poderia aparecer, à última hora, algum cliente ou banqueiro estrangeiro. Nessas ocasiões era necessário organizar um programa às pressas. Não havendo nenhum visitante especial naqueles dias, o diretor aproveitou para fazer um agrado aos próprios colegas.
Após o coffee break, Gustave Thayer voltou a sua exposição:
– Temos também as contas africanas. Impressionante como aqueles negros conseguem juntar tanto. No Congo, conseguimos uma conta pessoal do presidente Mobutu. Um ministro da Nigéria já tem mais de 60 milhões conosco. Estamos com outras perspectivas na África. E, vejam bem, mal conseguiram suas independências. Felizmente para a civilização européia todas essas riquezas estão protegidas.
Nenhum dos presentes contestou o cinismo do expositor. Continuaram atentos.
– E os investimentos religiosos – prosseguiu Thayer. – Novas seitas estão surgindo, principalmente nos Estados Unidos. Dessas religiões, até há pouco inexistentes, já temos mais de 100 milhões. Os fiéis contribuem para suas igrejas com 10% de seus ganhos. Uma mina inesgotável.
Antes de encerrar a exposição, a mais longa do dia, Gustave Thayer olhou demoradamente os colegas e, tal como um ator recitando seu gran finale, baixou o tom de voz, quase para um sussurro, obrigando os outros a se curvarem para o centro da mesa.
– Minha diretoria vem trabalhando três grandes contas, provavelmente as maiores que já tivemos. Uma vem de Palermo, na Sicília, não preciso entrar em detalhes. A segunda é de Marselha. Do grupo que controla o comércio da papoula na Turquia. – Baixou mais ainda o tom. – A terceira, a ser aberta com um depósito de 200 milhões de dólares, é da Santa Igreja Católica de Roma.
Um murmúrio de aprovação seguiu-se às palavras de Thayer. Ele, então, concluiu.
– Nada disso seria possível sem o trabalho de Jean. Se conseguimos atrair tais clientes, foi devido à excepcional rentabilidade de nossa carteira de investimentos.
Jean Lesneur, diretor de operações, cuja participação na reunião se limitara ao assunto do cobre de Zâmbia, voltou ao foco das atenções.
– Obrigado, Gustave. Antes de mais nada, quero explicar nossa perda na América. – Lesneur relatou aos presentes, com detalhes, a história das laranjas e da falência da Eastern American. Passou, então, a outros assuntos:
– Com relação aos resultados das carteiras, obtivemos o segundo melhor desempenho em todo o mundo na administração de capitais especulativos. Só perdemos para a Clarence & Associados, de Nova York, isso por causa do negócio das laranjas. Essa diferença de resultado não significa nada, porque o capital deles é pequeno, coisa de pouco mais de 40 milhões, quase tudo ganho nessa única operação. Mas está na hora do almoço e quero deixar um assunto importante para depois.
Todos se dirigiram ao banheiro, ao lado. Quando voltaram, o copeiro já estendera a toalha e dispusera pratos e talheres sobre a mesa. Pouco depois, serviu salada verde, costeletas de carneiro com batatas ao forno e legumes. Para Jacques Schneider, diretor de contabilidade e controle, vegetariano convicto, trouxe talharim al funghi secchi. Como sobremesa, frutas tropicais. Para beber, apenas água mineral.
Terminado o almoço, voltaram ao trabalho. Jean Lesneur passou a expor o assunto adiado pela chegada da refeição:
– Senhores, o sucesso de nossas carteiras especulativas foi conseguido graças à eficiência de nossos operadores, analistas e estrategistas. Lamentavelmente, o melhor deles vai se aposentar. Refiro-me ao gerente da mesa, Jeffrey Chapman. Pois bem, Chapman já passou dos 60, está rico e a única coisa que deseja da vida é mudar-se para Ibiza, onde tem, eu já passei um fim de semana lá, uma linda villa. Tenho conseguido adiar a decisão do Jeffrey, dei a ele vários aumentos, mas agora é definitivo. Ele vai embora no início do verão.
Lesneur retirou de sua pasta um dossiê com várias cópias e as distribuiu entre os colegas, com exceção de Otto Behr, da Inteligência.
– Para o lugar de Chapman – acrescentou –, vou convocar seu lugar-tenente. – Lesneur, embora nunca tivesse vestido uma farda, adorava tratamentos militares. – Bruno D’Angelo. Não é tão brilhante quanto Chapman, mas é de uma fidelidade a toda prova. Homem para ficar toda a vida conosco.
– Se você já tem o substituto de Chapman, por que este dossiê? – perguntou o administrativo Monpère, abrindo as mãos com as palmas para cima.
– Porque resolvi dividir o setor de operações. Essa ficha, à frente dos senhores, é de outro inglês, que trabalha para o grão-duque do Luxemburgo. Administra uma pequena carteira, aberta há 18 meses, com apenas 100 mil.
Lesneur fez um pequena pausa, só para criar suspense.
– A carteira está hoje com 700 mil dólares – complementou.
– Então, é bem melhor que os nossos e o tal Clarence de Nova York? – voltou a questionar Monpère.
Sem o menor sinal de impaciência, Lesneur esclareceu.
– O desempenho da Clarence & Associados não pode ser comparado a nenhum outro, pois, como já disse, resultou de uma só operação. Imaginei ser esse também o caso do inglês lá do Luxemburgo. Como podem ver no dossiê, o nome dele é Clive Maugh. Otto apurou tudo sobre o rapaz. Tem apenas 27 anos. Os 600%, alcançados em 18 meses, foram obtidos negociando em diversos mercados, todos os dias, inclusive à noite.
A uma audiência totalmente absorta, Lesneur continuou:
– Trata-se, indiscutivelmente, de um gênio. Fui ao Luxemburgo só para entrevistá-lo. Trabalha com sistemas desenvolvidos por ele mesmo. Só pensa no mercado. As 24 horas do dia. Parece alimentar-se dele. Não é um tipo agradável, mas, segundo Otto, é de confiança. Bem, é melhor que ele mesmo fale sobre o inglês.
Todos se viraram para o diretor de Inteligência.
– Verifiquei tudo sobre Maugh – iniciou ele. – Mora num apartamento grande e antigo, mas tem uma vida espartana. Tudo o que tem lá são livros. Acho que os compra às toneladas. Gosta também de música clássica. Se alimenta apenas de leite e de sanduíches de queijo, junto com um monte de vitaminas. Tem uma conta de poupança com mais de 50 mil dólares, o que não é de estranhar, pois não gasta com nada, a não ser com livros e com put... prostitutas. Regularmente, vai de trem até a Holanda, onde se encontra com elas. É solteiro e não tem namorada; um tipo meio repulsivo, desculpem-me o comentário. Seus colegas de trabalho não gostam dele. Por isso, os planos de Lesneur para Maugh são diferentes do padrão aqui do banco. Fale-nos sobre isso, Jean.
– Bem, Otto, a idéia é colocá-lo em uma sala separada, com os equipamentos necessários a seu trabalho. Depois, entregar-lhe um capital pequeno, digamos, uns 4 milhões. Mais tarde, se os resultados forem compatíveis com minha expectativa, aumentamos sua carteira. Desnecessário dizer que, com recursos maiores, ele não irá repetir o resultado de 600%, mas, se meu pressentimento não falhar, vai, no mínimo, dobrar o dinheiro a cada ano.
Durante o resto do encontro, Jean Lesneur, da Diretoria de Operações, Otto Behr, da Inteligência, Gustave Thayer, da Captação, e Mark Monpère, da Administração, examinaram relatórios de Jacques Schneider, da Contabilidade e Controle.
Ao final do dia, quando tudo parecia indicar o fim da reunião, o senhor René Russon, proprietário do Banco Centro-Europeu de Lausanne, que a tudo assistira de seu escritório, através de um aparelho de televisão colocado à frente de sua mesa, entrou na sala e assumiu a presidência do Sindicato. Parabenizou os presentes pelo excelente trabalho realizado. Deu apenas uma ordem:
– Acompanhem o trabalho desse senhor Julius Clarence, de Nova York. Poderemos fazer excelentes negócios se seguirmos seus movimentos. Mais tarde acertaremos a conta das laranjas.
CAPÍTULO 26
Na primavera de 1967, Bernard Davish, recém-graduado na NYU, começou a trabalhar na Clarence & Associados. Sua tarefa inicial consistia em controlar o caixa da mesa de operações.
Para cada negócio feito pela mesa emitia-se uma boleta, com as características da operação. O papel era imediatamente repassado a Davish. Competia-lhe controlar o fluxo de dinheiro provocado por esses negócios, de maneira tal que, ao final do dia, a empresa não corresse o risco de ficar com o caixa negativo, nem com sobras de dinheiro.
Magro, alto, cabelos ruivos e ondulados, o jovem Davish conheceu o patrão logo no primeiro dia de trabalho, pois Clarence passava quase todo o tempo na sala de operações. O entusiasmo de Bernard na condução de sua tarefa não passou despercebido.
Na primeira oportunidade, menos de dois meses depois de sua admissão, Davish foi promovido a operador. Recebia ordens de clientes e as passava às diversas bolsas. Foi também autorizado a operar um pequeno capital especulativo: 25 mil dólares, apenas para treinamento. Para Bernard, os 25 mil significaram milhões. Não raro, ficava até tarde da noite na empresa estudando alternativas de negócios para o dia seguinte. Clarence observava.
Na época, a Clarence & Associados já montara um eficiente setor de informações. Muito aquém do nível desejado por Julius, mas o único de Wall Street. As outras empresas preferiam terminais de teletipo das agências de notícia, coisa que ele também possuía.
Julius sabia que as agências quase sempre chegavam à frente com as informações. Mas bastava que, duas ou três vezes por ano, eles soubessem de um acontecimento importante antes do resto do mercado, para superar todos os gastos do setor e ainda sobrar um lucro substancial.
Uma das tarefas do pessoal de informações era escutar transmissões de rádio ao redor do mundo, o que proporcionava alguma vantagem.
Enganam-se os que pensam que todas as informações obtidas pela CIA, pela KGB, pelo Mossad de Israel e pelos principais órgãos de informação do mundo são coletadas por uma enorme rede de espiões. Embora estes existam, a maior fonte de dados desses órgãos são os jornais e as transmissões de rádio, tanto das emissoras comerciais como das comunicações de pessoa a pessoa.
Alan Payne, responsável pelo serviço de informações da Clarence & Associados, ex-agente da CIA, montou um sofisticado sistema de escuta. Esse serviço situava-se em Ridgefield, Nova Jersey, do outro lado do Hudson, e mantinha contato permanente com Clarence.
Na segunda quinzena de maio de 1967, os serviços secretos dos governos, as agências de notícias e o serviço de informações da Clarence, em Ridgefield, estavam em plena atividade.
A Síria vinha patrocinando ataques terroristas em Israel. Nasser, do Egito, expulsara da península do Sinai os observadores das Nações Unidas e bloqueara a frota mercante de Israel no golfo de Aqaba. A Jordânia, o Egito e o Iraque haviam unificado seus exércitos sob comando egípcio.
Às 8h da manhã da segunda-feira, 5 de junho, a aviação israelense atacou os aeroportos militares do Egito, Jordânia, Síria e Iraque. Na hora do ataque, o sol já estava alto no Oriente Médio. Mas na Costa Leste dos Estados Unidos ainda era 1h da manhã.
Clarence, que adquirira o hábito de trabalhar nas noites de domingo, examinara uns gráficos das cotações da bolsa de valores e preparava-se para dormir quando os três telefonemas se sucederam quase ao mesmo tempo. Primeiro Sandra, de Düsseldorf. Depois Alan Payne, de Ridgefield, e, logo a seguir, para grande surpresa de Julius, o operador júnior Bernard Davish, falando da sede da Clarence, em Wall Street. Só então o terminal de teletipo começou a vomitar notícias, uma atrás da outra.
Sandra foi rápida e objetiva:
– Vejo que não o acordei. Os amigos têm uma informação. Israel atacou os países árabes. Os detalhes, com certeza, o senhor saberá pelo rádio e pela TV. Se for preciso, volto a telefonar. Uma boa noite, senhor Clarence.
Julius ainda agradecia a Sandra quando o outro telefone tocou. Falando de Ridgefield, onde passava a noite – por pressentir alguma coisa –, Payne foi tão objetivo quanto a moça.
– Julius, a guerra começou no Oriente Médio. A força aérea de Israel está destruindo, no solo, a aviação do Egito, da Síria, da Jordânia e do Iraque.
– Acabei de saber. – Julius fazia questão que seu serviço soubesse que não fora o primeiro a informar.
Tentando disfarçar a decepção, Payne acrescentou:
– Ficarei atento. Se acontecer algo novo, ligo imediatamente. – Alan tinha autorização para acordar Julius Clarence a qualquer hora da noite.
Ligou, então, Bernard Davish, nervoso e inseguro.
– Me desculpe, Julius – desde o primeiro dia de trabalho, os operadores da Clarence & Associados chamavam o patrão pelo primeiro nome. – Ah... a... aqui é Bernard, da mesa. Vim até o escritório examinar uns gráficos do Dow e, aí, saiu uma notícia da UPI. Israel está atacando os árabes. Acho que a guerra começou. Fi... fiquei em dúvida. Achei melhor avisá-lo.
A surpresa de Julius foi completa. Bernard encontrava-se no escritório àquela hora. Examinava o mesmo gráfico que ele. Finalmente, Clarence não notara o despacho da UPI, que agora via pendurado no teletipo, ao lado.
Julius sentiu um aperto no estômago. Medo! Sempre sentia medo nessas ocasiões. O medo do predador. De ficar de fora, de perder a oportunidade. De não participar de outra batalha que iria começar.
– Bernard, não desligue. Deixe-me pensar um instante. – Olhou as horas: 1h45. Merda. Péssima hora. Os mercados da Europa ainda não haviam aberto; o do Japão já fechara. Hong Kong! Tinha uma hora e meia em Hong Kong. Tempo suficiente. Voltou a falar com Davish.
– Perda de tempo ir para aí. Tenho três linhas aqui comigo. Uma ficará aberta com você. Vou precisar muito das outras duas. Você tem toda a mesa a seu dispor. Garoto, nós vamos arrebentar com eles.
Ao longo da madrugada, Julius e Davish entraram no mercado de Hong Kong comprando prata e vendendo libras esterlinas contra o dólar. Ao mesmo tempo, foram acordando os operadores da Clarence, de maneira tal que, ao abrirem os mercados na Europa, todos estivessem a postos.
De Greenwich, Clarence conduzia o show. Quando vários operadores já se encontravam na mesa, pegou a limusine com Antoine e dirigiu-se ao escritório. Manteve contato permanente com seu pessoal pelo rádio do carro. A vantagem do tempo era toda dele.
Só quando os escritórios abriram na Europa os ainda sonolentos operadores do Velho Mundo começaram a saber das notícias. Quanto aos profissionais de Wall Street, ainda dormiam a noite de domingo. Mas a Clarence & Associados estava acordada e atacava os adversários. Fornalhas trabalhando a pleno vapor.
Em Paris e Londres, compraram mais dólares, prata e venderam grande quantidade de francos franceses e libras esterlinas. Compraram cacau, açúcar e borracha, mercadorias que sempre sobem durante as guerras. Venderam ações a descoberto nas bolsas de valores de Londres e Paris. Em Roterdã, compraram vários carregamentos de petróleo. Em Londres, no mercado de fretes, alugaram petroleiros.
Se o canal de Suez viesse a ser fechado por causa da guerra, a rota do petróleo do golfo Pérsico para a Europa teria de contornar a África pelo cabo da Boa Esperança. As viagens seriam mais longas e a disponibilidade de navios seria menor. Os fretes iriam subir.
De Ridgefield, Alan Payne insistia:
– Julius, fui informado, por fontes seguras, de que Nasser está considerando seriamente a possibilidade de afundar alguns navios em Suez e bloquear o canal.
Quando a Bolsa de Valores de Nova York abriu, às 9h30, a Clarence & Associados vendeu ações a descoberto. A essa altura, a guerra já eclodira há mais de oito horas, eliminando o fator surpresa. Mesmo assim, o pessoal da Clarence continuava em vantagem, pois estudara, ao longo de todo esse tempo, quais as empresas que perderiam e quais as que ganhariam com a crise.
Ao final da segunda-feira, Clarence e seus operadores já registravam excelentes resultados em suas operações espalhadas pelo mundo. Era hora de começar a desfazer as posições. Ficaram todos até tarde na corretora preparando planos para o dia seguinte.
No dia 6 de junho, tal como Ridgefield estimara, Nasser fechou Suez, para deixar a Europa sem petróleo, gerando um início de pânico no mercado. Os investidores procurando dólares e prata, oferecendo libras e ações. Foi fácil para a Clarence reverter suas posições, vendendo o que todos queriam comprar e comprando o que todos queriam vender.
O tempo era curto. De Düsseldorf, Sandra deu duas informações preciosas: a guerra acabaria muito em breve e o embargo de petróleo contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha – decretado pela Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Líbia e Argélia – estava fadado ao fracasso.
Com os acontecimentos daquela semana, Clarence percebeu a sabedoria de Abdul, ao optar por uma sociedade secreta, os dois se comunicando através de intermediários. O que estaria fazendo seu sócio naqueles momentos de crise? Lembrou-se também do velho Abramovitch. A voz cansada.
“O importante é entender os acontecimentos do mundo. Perceber as coisas antes dos outros.”
Durante o restante da semana, todos concluíram que, com a aviação dos países árabes destruída no solo, a guerra estava decidida em favor de Israel. Os mercados se acalmaram. As coisas voltaram ao normal. O Índice Industrial Dow Jones recuperou os 16 pontos perdidos por conta da guerra.
Enquanto durou o conflito, Julius permaneceu grande parte do tempo no escritório, indo ao apartamento para tomar banho, trocar de roupa e cochilar algumas horas.
Só na sexta-feira retornou a Greenwich. Levou consigo Bernard Davish, seu companheiro de batalha desde o primeiro minuto, para passar o fim de semana.
No dia seguinte, sábado, dia 10, terminou a Guerra dos Seis Dias. Os mercadores de dinheiro, tal como os soldados no front do Sinai, puderam, então, descansar.
Fortunas mudaram de mãos naquela semana. Julius ganhou 10 milhões. Mas não foi o grande vencedor. Clive Maugh, um operador de Lausanne, trabalhando sozinho, quase sem dormir durante toda a semana, e usando ao extremo seu poder de alavancagem, dobrou seu capital de 4 para 8 milhões de dólares.
O Sindicato, graças à atuação de Maugh e ao fantástico serviço de informações de Otto Behr, obteve um lucro de mais de 40 milhões durante a Guerra dos Seis Dias especulando com os mercados.
CAPÍTULO 27
Aos poucos, Julius se integrava a Greenwich. Gostava do lugar, das ruas tranqüilas, das propriedades abertas, sem cercas, dos animais silvestres soltos, sem ninguém para perturbá-los. Por ali se viam veados, alces, patos selvagens, esquilos.
Não raro, a limusine era obrigada a parar atrás de uma fila de carros apenas para que uma família de patos atravessasse a estrada. Nessas ocasiões, Antoine voltava-se para o patrão e explicava:
– São os patos, senhor.
Clarence reclinava-se prazerosamente no banco traseiro, enquanto a fila de automóveis aguardava pacientemente um pato retardatário a coçar-se no meio da estrada.
O novo morador foi bem aceito na comunidade. Como se houvera nascido lá. Surgiram os primeiros convites para jantar, para churrascos à beira das piscinas. Começou a chamar os vizinhos para sua casa também.
Os moradores gostavam dele. De certa maneira, também o invejavam, embora houvesse muitas pessoas mais ricas que Julius Clarence no condado de Greenwich. Mas nenhuma delas enriquecera tão rápido e com tão pouca idade.
Havia uma auréola lendária ao redor de Julius Clarence. Dizia-se dele que era o mago de Wall Street. Um homem que transformava informações em dinheiro.
Julius nunca possuíra um cavalo, mas se sentia atraído por eles. Talvez por causa de seu sangue irlandês. Não raro, comparecia aos hipódromos, geralmente levado por seu vizinho, Martin Beresford, este, sim, alucinado pelas corridas.
Beresford tinha pouco mais de 40 anos. Era riquíssimo. Seu patrimônio incluía várias refinarias de petróleo. Comparecia diariamente a seu escritório em Jersey City, cuidava de maneira competente de seus negócios, era bom marido e ótimo pai para suas duas filhas.
Mas gostava mesmo era de cavalos, de puros-sangues ingleses. Possuía uma centena deles em seu haras em Glensboro, nas cercanias de Lexington, no Kentucky. Entre eles, alguns dos melhores reprodutores do país. Outra centena podia ser encontrada nas cocheiras dos principais hipódromos não só dos Estados Unidos como também nos da Inglaterra e da França.
Martin herdara da mãe e dos avós maternos o gosto pela criação de cavalos. A blusa preta, tradicional marca do Haras Saint Joseph, já trouxera muitas glórias aos Beresfords. Isso se podia averiguar no salão nobre do haras de Kentucky ou na pequena sala de troféus, ali mesmo em Greenwich, onde Martin guardava os mais recentes para seu próprio deleite.
Não havia demarcação entre o terreno de Julius e o de Martin, a não ser o fim de dois suaves declives gramados, que desciam das duas propriedades. De resto, campo aberto. Martin costumava invadir o terreno de Clarence e arrancá-lo de um bom livro, geralmente para comer um churrasco, que Julius sempre acusava de ser preparado com carne de cavalo.
Era primavera de 1968 e Julius encontrava-se em um desses churrascos na casa ao lado. Sem muito esforço, Beresford levou a conversa para seu tema predileto, puros-sangues ingleses e corridas.
– Pois é, companheiro, você diz que tem sangue irlandês. Já conseguiu beliscar alguma coisa daqueles otários lá da bolsa, mas ainda não tem nenhum cavalo. Lora, você não acha isso uma vergonha?
– O Julius tem coisas mais sérias para fazer. – Lora Beresford era uma mulher encantadora. – Ele está precisando mesmo é de uma mulher. Não é mesmo, Julius?
– Bem, Lora, cavalos a gente pode comprar. Já mulheres... não sei de nenhuma interessada.
Martin virava um bife na grelha e discordou:
– Não caia nessa, garoto, elas estão loucas atrás de você.
– Bem, Martin, eu tenho aquela cocheira lá em casa. Se quiser me vender algum daqueles seus matungos lá do Kentucky, posso colocá-lo ali. Nos fins de semana, sairei galopando pela vizinhança.
– Você sabe que não estou falando disso. Falo de cavalos de verdade. De vencedores de corridas.
– Bem, Martin, vou pen...
– Já sei! – Beresford brandiu o espeto com o bife bem à frente do rosto de Julius. – Vou leiloar alguns potros de dois anos na próxima quinta-feira – gritou entusiasticamente. – Um deles, da melhor linhagem do país, ainda sem nome, tem as mãos tortas. Vou vendê-lo bem barato para você. Só tem um detalhe. Terá que arrematá-lo no leilão. Vai lhe custar 50 mil dólares. Você paga o que for preciso para dar o lance vencedor. O que passar dos 50 mil eu lhe devolvo depois. Esta você não pode recusar, companheiro.
– E o que eu vou fazer com um potro de mãos tortas?
– Fora os que reservei para mim, é o melhor da minha turma de dois anos. Tenho receio que dê um preço baixo por causa das mãos. Ficaria bastante chateado se isso acontecesse. Poderia também baixar o preço do resto do lote. Vou entregá-lo barato para você, mas gostaria de vê-lo por perto. Vai ser um campeão, companheiro. Já estou até arrependido da oferta.
– O.k., Martin. Você venceu. Onde é o leilão?
– Ah, já ia me esquecendo. O leilão vai ser em Paris. Quinta-feira, às 5h da tarde, no tattersall do Polo de Bagatelle, lá no hipódromo de Longchamps, no Bois de Boulogne. Poderemos até viajar juntos. Certo, parceiro?
– Eu sabia que tinha alguma coisa escondida nesta história de cavalos. Está bem, Martin. Vou dar um descanso àqueles otários lá da bolsa. – Julius já começava a gostar do potro que nem ainda conhecia. Por certo, estaria lá.
CAPÍTULO 28
O Bois estava triste naquele final de tarde de primavera. Um vento frio soprava dos lados de Saint-Cloud, vergando as árvores, ainda no começo da floração. O céu carregado e uma garoa fina espantavam os possíveis freqüentadores do bosque. Mas, no hipódromo de Longchamps, o burburinho do Polo de Bagatelle mostrava que algo importante estava para acontecer.
Logo teria início o leilão de potros. O primeiro da primavera. O Haras Saint Joseph, do Kentucky, leiloaria, naquela tarde, 18 exemplares de sua criação. Os animais já se encontravam ali há vários dias, recuperando-se da extenuante viagem aérea, feita em um velho mas confortável Boeing Stratocruiser, movido a motor de pistão, adaptado para o transporte de cavalos.
As poltronas de veludo preto, cor do Saint Joseph, haviam sido forradas especialmente para o evento. Ao longo do semicírculo, as pessoas iam se acomodando, enquanto os operadores de luz ajustavam os focos dos holofotes. Tudo extremamente chique: a cidade, o local e as pessoas. Vista assim, Paris mais parecia viver ainda a belle époque e não o ano de 1968, quando, apenas dois meses depois, assistiria à última revolta romântica do século XX, protagonizada pelos estudantes liderados por Cohn Bendit.
Há mais de uma hora, Francine Kéraudy encontrava-se no tattersall. Enquanto aguardava o leilão, esfregava as mãos nervosamente. Dezenas de vezes abotoara e desabotoara o mesmo botão do Chanel cinza, um tique que há muito não se manifestava.
Francine sabia que o potro seria seu. Mesmo assim, não conseguia controlar a ansiedade.
Por sorte, seria o primeiro a ser vendido. O leilão ainda estaria frio. Os compradores guardando seus lances para o final. Sua ansiedade terminaria logo. Francine estava louca para acabar com aquilo.
Seu pai, Louis Kéraudy, fora bem claro. No máximo, um milhão de francos. Gostava de cavalos de corrida, não tanto quanto a filha – ninguém gostava tanto de cavalos de corrida quanto Francine Kéraudy –, mas detestava expor seu nome em leilões.
Kéraudy, fabricante de mísseis, era avesso a publicidade. Prejudicava os negócios. Pouco saía da fábrica em Toulouse, a não ser para vender suas armas, o que fazia com grande habilidade. Vinha naqueles dias tentando negociar 2 mil terra-terra Bandits para o governo de Sua Majestade Imperial, o xá Mohamed Reza Pahlevi. Publicidade, em momentos como aquele, só poderia atrapalhar. “No máximo, 1 milhão”, sentenciara ao telefone.
Francine sentara-se na primeira fila, bem ao centro. Olhava constantemente para os lados e para trás, tentando identificar possíveis adversários.
Ninguém iria tomar seu potro. Ninguém. Treinara inúmeras vezes todos os lances. “No máximo, 1 milhão”, dissera o pai. Mas podia ficar tranqüila. Com 400 ou 500 mil francos, haveria de levá-lo.
Embora amasse os cavalos, Francine detestava leilões. Dois anos antes, sofrera uma grande decepção ao perder, naquele maldito leilão do Kentucky, o Sea Bird, meio-irmão do potro que ia ser leiloado aquela tarde no Bois. E, desde então, Sea Bird vinha ganhando tudo.
O pai, Mosquetère, e a mãe, Tzarina, eram grandes campeões. E não haveria de ser por causa das mãos tortas que seu potro seria um perdedor. Não, as mãos tortas viriam em seu auxílio, manteriam os lances baixos. O potro seria seu e correria até mais que o Sea Bird. Ninguém tomaria, desta vez, seu campeão.
Francine, de tão ansiosa, nem notara o homem alto, de barba, quase a seu lado, parecendo pouco à vontade naquele ambiente desconhecido.
O leilão começou precisamente às 5h. De início, o leiloeiro descreveu todo o lote. Falou sobre o Haras Saint Joseph. Apresentou seu proprietário, Martin Beresford. Aplausos discretos acolheram o americano.
O primeiro potro da tarde, produto de Mosquetère em Tzarina, natural do Kentucky, ainda sem nome, foi apresentado ao seleto público do tattersall. O animal foi conduzido várias vezes de um lado para o outro sob as luzes dos holofotes. O brilho do pêlo castanho-escuro refletia de volta ao público os raios azulados da luz artificial. O olhar assustado denotava insegurança. Fora criado para correr, não para se apresentar no palco, qual um cavalo de saltimbancos.
Enquanto o potro era exibido, iniciou-se o leilão. O leiloeiro sugeriu um lance inicial de 200 mil francos, ao qual, afobadamente, Francine Kéraudy retrucou levantando a mão direita, mais alto e mais depressa do que ela mesma planejara tantas e tantas vezes. A pressa da moça não passou despercebida a Julius Clarence, sentado praticamente a seu lado.
O leiloeiro sugeriu um lance mais alto. Um senhor, na extremidade direita do anfiteatro, levantou o indicador da mão direita de maneira tão discreta que só mesmo o profissional lá em cima foi capaz de perceber.
Os lances foram se sucedendo rapidamente. Às vezes, o valor era sugerido pelo leiloeiro; em outras, o interessado o indicava com um pequeno gesto. Ninguém falava alto, gesticulava-se pouco. Um pequeno aceno com a mão ou um leve inclinar de cabeça bastava para que o novo lance fosse identificado.
A cada oferta, Francine respondia com um aceno de mão. À medida que os valores subiam, rareavam os compradores. Julius Clarence permanecia calado.
Quando o preço chegou a 800 mil francos, restavam apenas dois pretendentes, Francine e, lá no canto esquerdo, na última poltrona da terceira fila, um senhor de mais idade, aparentemente inglês, pela indumentária. Ela, extremamente nervosa, o botão do tailleur já arrancado em suas mãos. O inglês – sem dúvida, só poderia ser um inglês –, impassível.
Os dois passaram a colocar seus lances de 10 em 10 mil. A platéia olhava para um lado e para o outro como se assistisse a um jogo de tênis.
Após um lance de 960 mil francos, dado já em desespero pela senhorita Kéraudy, o outro pretendente desistiu, não sem antes levantar-se e enviar à moça um gentil cumprimento de felicitações.
O leiloeiro olhou ao redor e preparou-se para bater o martelo. Francine já se via beijando o focinho do filho de Mosquetère e Tzarina, o irmão do grande campeão Sea Bird, quando o homem de gelo do pit da Chicago Board of Trade, o mago de Wall Street, Julius Clarence, levantou-se, esticou o braço e, depois, recolheu-o com a palma da mão voltada para si, como quando comprava 200 mil bushels de trigo de uma só vez. Como se houvesse falado francês por toda a vida, berrou:
– Je donne un million et deux cents mille francs!
Só então a platéia notou a presença do americano. Quanto a Francine, chorando convulsivamente, jogou fora o pequeno pedaço de papel onde anotara, a cada lance, quanto faltava para seu limite de 1 milhão. Só Clarence percebera quando ela amassou o papel, um pouco antes de seu último lance, tal como fazia, cinco anos atrás, um operador de trigo, seu concorrente no pregão da Bolsa de Chicago.
Inconsolável, a moça correu para fora do tattersall.
CAPÍTULO 29
As tribunas do hipódromo de Belmont Park, em Long Island, encontravam-se fortemente iluminadas pelo ardente sol de verão. A uma manhã chuvosa seguira-se um céu aberto. O azul-celeste só era interrompido pelos riscos de condensação traçados pelos jatos que cruzavam os céus.
No paddock do hipódromo, o treinador, auxiliado por dois cavalariços, tentava colocar os arreios e a sela no agitado puro-sangue. O potro levantava e abaixava a cabeça, em movimentos súbitos, frustrando as tentativas dos profissionais. Encostados à grade branca do paddock, Julius e Martin observavam o trabalho. Sorriram aliviados quando, finalmente, o animal se deixou equipar.
Julius já ia encaminhar-se para a tribuna, seguindo Martin, que parecia conhecer todos ali, quando viu, também encostada à grade, do outro lado do boxe onde o potro era preparado, a moça do leilão de Paris.
Não resistiu. Contornou o boxe e dirigiu-se a ela. Só então notou o quanto era atraente.
Os cabelos curtos mesclavam diversos tons entre castanho e preto. Sobrancelhas bem traçadas acentuavam o lindo par de olhos castanhos. O nariz, a boca, os lábios finos, pintados de vermelho suave, formavam belo conjunto com o par de brincos de pérola. Um colar, também de pérolas, iguais às dos brincos, combinava com o tailleur branco que vestia o corpo extremamente bem proporcionado.
Ao vê-lo, a moça deu sinais de irritação. Clarence ignorou a fisionomia inamistosa e apresentou-se:
– Olhe, meu nome é Julius Clarence. Como estamos sempre freqüentando os mesmos lugares, em ambos os lados do Atlântico, sugiro nos apresentarmos um ao outro.
– Gostaria de ser poupada desse desprazer. Estou aqui porque tenho um cavalo no Grande Prêmio. Não vejo necessidade de nos apresentarmos. Não tenho o hábito de conversar com estranhos. – O inglês de Francine disfarçava pouco sua condição de francesa.
– Ah, me desculpe, mas você está olhando o cavalo errado. Este é o Mississippi Saylor, que eu arrematei naquele fantástico leilão em Paris. Vocês franceses sabem mesmo como organizar as coisas. Bem, em Paris, você parecia um bocado interessada em meu cavalo. No Mississippi Saylor.
– Nunca imaginei que alguém pudesse dar um nome tão grotesco a um potro. A não ser você, é claro. Da maneira como deu o lance em Longchamps, só poderia dar um nome desses. Mississippi Saylor! Não dá para acreditar. Bem, não tenho o menor interesse por seu cavalo.
– Bem, com licença, senhorita... Como é mesmo o seu nome? – E, sem esperar uma resposta, Julius acrescentou: – O.k., vamos ver se seu cavalo, ou melhor, se meu cavalo merece tanto interesse. – Julius fez um aceno com a cabeça e dirigiu-se com Martin para as tribunas.
CAPÍTULO 30
Cesar Esposito era um profissional experiente. Conhecia cavalos. Montava-os desde menino, lá em Havana, antes de Castro chegar e estragar as corridas. Esposito não compreendia Castro. Se ele não gostava de apostas nos cavalos, por que não o deixara partir em paz, sem ter de arriscar a vida naquele barco, que mais parecia uma canoa, no meio da noite?
Mas conseguira escapar e já há quase 10 anos montava para o Saint Joseph. No inverno, lá no Hialeah Park, em Miami. No verão, aqui no Belmont Park e em Churchill Downs, no Kentucky.
Bom patrão, o senhor Beresford. Já lhe prometera um trabalho mais tranqüilo, no haras em Glensboro, quando estivesse velho demais para as corridas. Mas Esposito desejava mesmo era voltar para Havana, aquilo sim era um lugar para se viver. Quem sabe um dia Castro não começaria a gostar de cavalos.
O animal não pertencia ao Saint Joseph. Esposito iria correr aquele páreo de favor. Era de um amigo do patrão. Senão, não correria. A não ser que lhe pagassem muito bem, pois tinha medo de potros muito novos. Principalmente estreantes como aquele. Bastava um pequeno descuido e pronto. O animal se jogava contra a cerca. Mas, enfim, eram ossos do ofício.
Estivera observando o potro – como era mesmo o nome dele? Ah... sim, Mississippi Saylor, nome estranho para um cavalo – antes, nos treinos, e hoje, durante o galope de apresentação e enquanto se dirigiam ao starting gate.
Algo lhe dizia: aquele era um craque. Talvez pela maneira como movia o pescoço, talvez por causa das mãos – engraçado, as mãos dele eram tortas, sim, as mãos tinham uma pegada grande, iam lá na frente. Mas só se podia saber durante a corrida. Cavalos se conhecem na corrida. Aí se vê o coração do animal. O coração é que ganha as corridas.
Esposito colocou Mississippi Saylor em seu boxe no starting gate. O primeiro junto à cerca, na reta do lado oposto às tribunas, um pouco antes da curva. Era só largar e pronto. Aquele potro era um velocista. Largar, não deixar o animal abrir na curva e ir coladinho à cerca até o final.
Um a um, os concorrentes foram colocados dentro dos boxes, no starting gate. Os animais chocavam-se contra os postes acolchoados, enquanto os cavalariços, agarrados às grades, desdobravam-se para manter os puros-sangues em posição de largada.
Nas tribunas, apostadores, proprietários, treinadores, todos estavam de olhos e binóculos grudados na reta oposta. Embora, para os leigos, todas as corridas pareçam iguais, para os entendidos, os aficionados, cada uma delas contava uma história diferente. Principalmente um páreo de estreantes. Quem sabe ali não estaria um grande campeão?
Julius Clarence procurava controlar a tensão. Olhando para os lados, viu, no final da tribuna, a garota francesa olhando em sua direção.
Se entre o público havia ansiedade, esta era maior entre os profissionais, sentados sobre a sela minúscula, à espera da campainha, quando todos os portões se abririam ao mesmo tempo e os animais se projetariam para a frente.
Apesar de sua experiência, Esposito sentia-se ansioso. Era sempre assim, não importava o quanto já tivesse corrido. Ouvidos atentos, músculos retesados, uma última verificação para saber se as botas estavam direitas no estribo.
Pronto! Subitamente os portões se abriram para a frente. Uma mistura de sons: os portões, a campainha, os gritos dos jóqueis, dos cavalariços, dos oficiais de largada.
Quando Esposito se deu conta, já era tarde. O jóquei ao lado – aquele filho-da-puta do Spencer – espremeu-o contra a cerca, obrigando-o a puxar a rédea, os pés calcando o estribo para a frente. – Por que não se lembrou de que o Spencer estava no boxe ao lado?
Esposito ficou para trás, bem longe dos outros competidores. – Mierda! Como isto foi possível? – Apenas alguns segundos, mas o suficiente para que a corrida estivesse perdida. Ainda mais num páreo de apenas seis furlongs, menos de uma milha. Só restava dar tudo de si, quem sabe, tentar não ser o último colocado.
Tinha que fazer o possível. Senão arriscava-se a ser suspenso pela comissão de corridas, porque o regulamento mandava os jóqueis fazerem todo o esforço possível, mesmo quando o páreo estava perdido.
Então o Mississippi Saylor começou a descontar a diferença. As mãos tortas buscavam a pista lá na frente e depois se curvavam para trás e para cima. As patas traseiras cravando-se na areia úmida. Os olhos grandes pareciam saltar fora das órbitas. Esposito sentiu o coração do animal. Aquele era um campeão. Pena ter largado atrasado.
A curva nem ainda terminara e Cesar começou a sentir no rosto a areia jogada para cima pelas patas dos adversários.
Entraram na reta, três furlongs apenas. O cubano não acreditava no que via e sentia. Pelo lado direito, correndo por fora, Mississippi Saylor começou a ultrapassar os outros, um a um. Esposito, os joelhos roçando a cernelha, sentia seu animal buscando o terreno que lhe pertencia.
Os braços do jóquei abriam-se e fechavam-se no mesmo ritmo do pescoço do potro. Parecia que jóquei e cavalo eram partes de um mesmo animal. Esposito sentia-se voar. Apenas dois competidores à sua frente.
Cinqüenta jardas para o final, agora apenas um. Cesar Esposito trocou o chicote da mão direita para a esquerda e bateu forte. O potro compreendeu a ordem e, numa última explosão muscular, mãos e patas agora tocando a raia ao mesmo tempo, bateu o último adversário e cruzou o disco em primeiro lugar.
Martin Beresford gritava como um louco. Julius Clarence estava lívido. Subitamente, viu-se caminhando na direção de Francine Kéraudy. Os dois se abraçaram. A moça chorava.
Julius passou as mãos pelo cabelo da jovem e falou carinhosamente:
– Para um cavalo pelo qual não tem o menor interesse, você se emocionou um bocado. Vamos lá, garota, você vai me fazer o favor de sair na foto junto com ele.
TERCEIRA
PARTE
CAPÍTULO 31
Julius acendeu o abajur ao lado da cama e verificou as horas: 2h30 da manhã de segunda-feira. Desde quando se recolhera ao quarto da clínica do professor Zardil estivera acordado pensando, rememorando, um a um, os acontecimentos de sua vida agitada.
Quase 30 anos já haviam passado desde seu encontro com Francine em Belmont Park. Mesmo assim, recordava-se de cada detalhe daquela tarde. Voltou a apagar a luz e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma vontade incontrolável de fumar um cigarro.
O professor era fumante, mas não desejava acordá-lo. Desceu ao andar térreo. Deu sorte. Encontrou um maço sobre o aparelho de som. Pegou fósforos e um cinzeiro na cozinha e retornou à cama e à escuridão. De novo deitado, acendeu um cigarro, mas ficou tonto ao aspirar a fumaça. Apesar disso, continuou fumando, agora sem tragar. Fixou o olhar no pequeno ponto vermelho formado pela brasa incandescente. Voltou a lembrar-se de Francine. Sorriu para si mesmo ali no escuro.
Conseguiu focalizar na mente a foto da garota francesa segurando as rédeas de Mississippi Saylor em Belmont Park. Viu-a nitidamente, vestida com o tailleur branco, junto a ele, Martin, e o cavalo campeão, logo após a primeira corrida. Lembrou-se da cara do jóquei, o cubano baixinho. Esposito. Sim, Esposito era o nome dele. Depois das fotos, Francine desaparecera.
Foi preciso usar Alan Payne para descobrir quem era a moça. Só então soube que se chamava Francine Kéraudy. Tinha 23 anos, era solteira e filha única. Oficialmente, morava com o pai, Louis Kéraudy, em uma villa em Montaigut-sur-Save, a noroeste de Toulouse.
O senhor Kéraudy era proprietário da fábrica de armamentos Midi-Pyrénées, fabricante dos mísseis Bandits. Possuía também um apartamento na Avenue Foch, em Paris, onde Francine passava a maior parte de seu tempo junto a uma governanta, encarregada de sua educação desde menina. A mãe, Irène Kéraudy – Volter, de solteira –, deixara a filha ainda pequena. Vivia, desde então, com o agora octogenário pintor basco Andrés Tuzcoan em uma villa na Riviera italiana.
Francine Kéraudy era estudante. Cursava o 3.o ano de Arquitetura na École Polytechnique de Paris.
Julius recorreu a Martin para voltar a vê-la. Francine não resistiu a um convite do Saint Joseph e viajou para Glensboro, a fim de conhecer o haras. No fim de semana, Clarence apareceu por lá. Ela sentiu prazer ao vê-lo, embora não o demonstrasse abertamente. Já familiarizada com o haras, serviu de guia a Julius, mostrando-lhe as instalações, as cocheiras e as pistas de treinamento. Ficaram juntos o sábado e o domingo.
A partir daí passaram a ver-se regularmente, cabendo a ele, quase sempre, fazer a longa jornada até Paris. Lá, freqüentavam os restaurantes da moda, compareciam a shows e assistiam às corridas. Entretanto, quando ele ensaiava um contato mais íntimo, era imediatamente repelido. Até aquela noite no Lasserre – disso Clarence se lembrava nos menores detalhes, mesmo mais de um quarto de século depois, deitado em sua cama em Bruxelas.
Julius conhecia pouco Paris. Até o leilão do Mississippi Saylor, quando vira Francine pela primeira vez, suas viagens à França tinham se limitado a correrias de negócios, para compra de Giscard Bonds, títulos do governo francês, lastreados em ouro, muito procurados pelos investidores americanos. Nessas ocasiões, sua passagem pela cidade restringira-se à seqüência monótona aeroporto/táxi/hotel/negócios/aeroporto.
Agora, sentia prazer em se deixar levar pela namorada para conhecer a verdadeira Paris. Percorriam juntos os bulevares e avenidas, sentavam-se nos cafés, à beira das calçadas, e partilhavam da boa mesa.
Francine estava extremamente alegre aquela noite no Lasserre. Os dois já haviam se deliciado com rissoles de lagostins ao tomate verde e aguardavam a língua de carneiro. Francine bebera algumas taças de champanhe e ria além do habitual. De repente, ficou séria, seus olhos encheram-se de lágrimas, os lábios começaram a tremer.
– Eu não vou conseguir nunca – disse, esforçando-se para não chorar.
– Meu amor, fique calma, relaxe. Você não vai conseguir nunca o quê? – Clarence colocou suas mãos sobre as dela, por cima da mesa. – Ssshhh... – sibilou baixinho, como se aquietasse uma criança assustada.
– Você sabe, Julius, eu não vou conseguir nunca. Eu sei que, quando você vem de Nova York e não acontece nada entre nós, você fica desapontado. Eu sei, um dia você não vai mais voltar. Julius, como eu posso ser tão infeliz?
Clarence passou-lhe um lenço. Ela assoou o nariz e olhou disfarçadamente para os lados, a fim de ver se alguém estivera olhando. Só então, mais calma, revelou seu pequeno drama. Já tentara fazer sexo com outros namorados. Sempre fracasso total. Seus romances terminavam abruptamente. Sentia aversão ao ato sexual. Era virgem. Queria deitar-se com Julius, mas receava ver tudo dar errado novamente. Tinha muito medo de perdê-lo por causa disso.
Julius sentiu-se ainda mais atraído; deitar-se com Francine, percebia, não significaria apenas a posse de mais um corpo feminino. Seria necessário merecer-lhe a confiança primeiro. Disse-lhe que não forçaria nada. Deixaria que ela mesma tomasse a iniciativa, ditasse o progresso da relação.
Francine tranqüilizou-se. Em sua fantasia, o sexo das mulheres era como alguma coisa que lhes pertencia e que os homens tentavam tomar para si. A atitude de Clarence alterava tudo, invertia os papéis. Isso a excitava. Muito.
Então, aos poucos, começou a aceitar, desejar até, tocar e ser tocada. Com naturalidade, sempre por iniciativa dela, foram se relacionando de maneira cada vez mais íntima.
Julius costumava hospedar-se no George V, não muito distante do apartamento de Francine. Um domingo, haviam acabado de voltar das corridas em Longchamps. Encontravam-se na suíte do hotel, ela sentada no sofá, ele deitado de costas, a cabeça repousando sobre suas coxas.
O contato do pescoço de Julius com a seda de seu vestido provocava na jovem sensações variadas. O coração bateu forte, percebia o sangue a correr mais rápido sob a pele e a contração da garganta ao engolir. Seu olhar percorreu o corpo de Clarence. Percebeu o sexo rijo sob a calça.
Não resistiu mais. Subitamente, ergueu a cabeça de Julius, que lhe tolhia os movimentos, e pôs-se de pé. Despiu-se afobadamente, revelando o corpo alvo, os seios pequenos, os mamilos duros de desejo, o sexo róseo pouco encoberto pela penugem clara. Já completamente nua, tirou a roupa de Julius, impacientando-se com os botões.
Enquanto o corpo dele se revelava, beijou-o no pescoço, no peito, na barriga. Segurou o sexo duro com ambas as mãos, acariciou-o com os lábios, beijou-o. Puxou-o para o sofá. Molhada de desejo, acolheu-o dentro de si. Chegaram juntos ao clímax.
Naquela noite, apaixonado, ele perdeu o vôo de volta a Nova York.
Além de apaixonado, Julius se cansara de cruzar o Atlântico só para ver a namorada. Lora Beresford tinha razão. A casa de Greenwich precisava de uma mulher.
– Francine, você quer ser sócia do Mississippi Saylor? – disse Clarence, enquanto ela abria a caixinha com o solitário.
Em Toulouse, Julius conheceu o futuro sogro. Hospedou-se na majestosa villa de Montaigut-sur-Save, quartos separados. Para surpresa sua, o industrial Louis Kéraudy sabia tudo a seu respeito. Descobriu serem os fabricantes de armas mais bem informados que os operadores de bolsa.
Foi preciso pedir formalmente a mão de Francine. O sogro exigiu um casamento na fé católica. Isso não foi empecilho para Julius, pois seu casamento anterior, com Claire, realizara-se somente em cerimônia civil.
A mansão dos Kéraudy possuía dois andares, além do porão com as adegas e do sótão e suas seis mansardas. Árvores centenárias ladeavam a construção principal.
Louis Kéraudy criava galgos e colecionava armaduras antigas, dispostas ao longo dos corredores, da biblioteca e até mesmo do grande salão de festas. Este, há anos, não sediava nenhum evento social de magnitude. Austera e triste seriam os melhores adjetivos para definir a residência do sogro de Julius. Talvez por isso Francine passasse a maior parte do tempo no apartamento de Paris, vivendo com a gorda Bernadette, esta, sim, uma pessoa de bem com a vida. A maior fã de Julius Clarence.
Depois da maioridade, Francine visitava freqüentemente a mãe em San Remo, algo antes proibido pelo pai. Julius foi até lá com a noiva. Gostou de Irene e ficou fascinado pelo espírito jovial do mestre Tuzcoan.
Francine Kéraudy e Julius Clarence casaram-se na Basílica de Saint-Sernin, em março de 1969, presentes o presidente Charles de Gaulle e toda a França.
Os fatos continuavam a suceder-se rapidamente na vida de Clarence. Ali estava ele, aos 28 anos de idade, casando-se na presença do presidente da França, recebendo telegramas e presentes de todo o mundo. Sentiu falta dos pais, teriam ficado orgulhosos, e do velho Abramovitch. Enviara um convite a Abdul al-Kabar. Este não compareceu à cerimônia, mas enviou um jogo de toalha e guardanapos rendados.
Claire Kellegher e Martin Beresford apadrinharam o noivo. Da noiva foram padrinhos o presidente e a senhora Yvonne de Gaulle. Reabriu-se o salão de festas de Montaigut-sur-Save depois de longos anos.
Após duas semanas de lua-de-mel em Acapulco, Francine Kéraudy tomou posse da mansão de Greenwich para encantar Teresa, Antoine, os Beresfords e todos por lá. Bernadette preferiu continuar tomando conta do apartamento em Paris.
Deitado na cama em Bruxelas, Julius mentalizou sua mulher, Francine, conversando com Lora Beresford, as duas sentadas junto à piscina, a francesa com seu inseparável coquetel. Mas isso fora há muito tempo. Antes mesmo da compra do Banco Comercial de Manhattan.
Amanhã, ele se entregaria às mãos de Zardil. Julius Clarence iria desaparecer para sempre.
A brasa incandescente permanecia imóvel em sua mão. O sono veio lentamente. A figura de Francine foi se apagando, confundindo-se aos poucos com a imagem de Valérie Toulon, vestida com o uniforme da Trans Atlantic.
Tantas coisas, tantas pessoas. Julius Clarence adormeceu pela última vez.
CAPÍTULO 32
Noite de domingo. A sede do Centro-Europeu estava quase deserta, não fossem os guardas de segurança e Clive Maugh masturbando-se no banheiro anexo a sua sala. Podia dar-se ao luxo de manter as portas abertas. Assim, via sua mesa, os telefones, os computadores e os terminais de cotação.
Sua mente tortuosa misturava a excitação da ofensiva planejada para aquela noite com a imagem das duas meninas levadas no sábado pelo turco Efram. Tudo muito excitante. Clive masturbava-se de pé, os calcanhares levantados, os olhos evitando sua própria imagem refletida no espelho a sua frente.
Já fazia parte do banco há mais de dois anos. Iniciara seu trabalho com uma carteira de 4 milhões de dólares. Agora, administrava 40, metade entregue pelo banco, a outra metade resultado de seus lucros no mercado.
Com a nova investida, a ser desencadeada na manhã seguinte, esperava ganhar, no mínimo, 10 milhões. Por isso estava tão excitado. Por isso se masturbava.
Maugh tinha um assistente, Giuseppe Ferraro. Este atendia o telefone, anotava as transações realizadas e passava ordens para as bolsas. Era incapaz de tomar uma decisão, e Clive gostava das coisas assim. Se dependesse dele, trabalharia completamente sozinho. Mas o diretor de administração, Monpère, designara o auxiliar, mesmo contra sua vontade, e ele não podia fazer nada a respeito.
Seu relacionamento com os demais operadores era mínimo. Às vezes, quando estava de bom humor, ia até a mesa de operações conversar com os colegas. Estes, entre si, não escondiam a aversão a Maugh, mas respeitavam sua competência.
Mesmo os diretores da instituição, a quem a performance de Clive rendia polpudas gratificações, evitavam um contato mais freqüente. Otto Behr já dera a entender que o novo contratado possuía hábitos estranhos. Já o patrão de todos, René Russon, considerava Clive Maugh o mais brilhante profissional a seu serviço. Deixava-o claro a todos os funcionários e diretores do Sindicato.
A aparelhagem de Maugh era sofisticada. Além de uma pequena central telefônica, contava com um terminal de cotações, outro de notícias, uma enorme calculadora eletrônica Friden e um computador, com o qual traçava gráficos e simulava operações. Quando precisava de uma informação importante, fora dos canais normais de notícias, consultava diretamente Otto Behr. Este prestava-lhe imediatamente todo o auxílio.
Possuía vários ternos, camisas e gravatas. Todos iguais. Invariavelmente, comparecia ao trabalho vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata também azul-marinho. Considerava uma inutilidade perder tempo todas as manhãs escolhendo a roupa do dia. Apenas o tecido variava, de acordo com a estação do ano.
Naquela noite quente de domingo, usava um terno leve de verão, a camisa branca de sempre, sem paletó e gravata. Os dois últimos estavam guardados no armário. Freqüentemente, permanecia em seu posto até o dia seguinte, em contato com os mercados do Oriente. Nessas ocasiões, dava apenas um pequeno cochilo no apartamento, montado especialmente para ele por Monpère, ali mesmo no banco, do outro lado do corredor.
Costumava masturbar-se durante o expediente. Abandonava a mesa por alguns instantes, deixando-a sob os cuidados de Ferraro, e aliviava-se no banheiro. Envolvia o membro com um lenço de papel, evitando, assim, espalhar esperma pelo local. Depois, limpava-se rapidamente e retornava ao trabalho, o rosto vermelho, o ritmo cardíaco acelerado. Tal função o relaxava. Se Ferraro desconfiava dos estranhos hábitos de seu chefe, em nenhum momento o deixava transparecer.
Todas as noites, Maugh permanecia no escritório até tarde. Pelo menos até o fechamento da Bolsa de Nova York, o que acontecia às 9h da noite em Lausanne, por causa da diferença de fuso horário. Depois, examinava ainda os negócios do dia, fazia sua autocrítica e programava operações para o dia seguinte. Tarde da noite, ia de táxi para seu apartamento. Não gostava de dirigir. Receava envolver-se em um acidente. Clive Maugh não corria riscos desnecessários, a não ser nos mercados, onde não temia nada.
Detestava as noites de sexta-feira. Nesse dia, quando os operadores de todo o mundo se entregavam às delícias do fim de semana, ele, na falta de mercado para operar, recolhia-se a seus livros e discos. Ouvia música clássica – Brahms, Schumann e Haydn os seus preferidos – e lia muito. Devorava dezenas de livros por ano, sobre todos os assuntos: romances, contos, livros técnicos e acadêmicos. Estudava matemática, física, medicina e lia tudo sobre os mercados. Mas sua grande predileção eram as revistas pornográficas, que o carteiro depositava diariamente em sua caixa postal, na portaria, e que, depois, atulhavam as gavetas do apartamento.
Nas noites de sábado, uma sim, outra não, encontrava-se com prostitutas. Logo ao mudar-se para Lausanne, costumava ir de trem a Genebra. Lá as encontrava. Aprazia-lhe ir para a cama com duas ao mesmo tempo. Enquanto, a seu comando, elas se relacionavam entre si, ele se masturbava, ajoelhado ao lado das duas. Gostava de ejacular sobre as mulheres.
Maugh veio a conhecer o turco Efram através da sessão de anúncios de uma revista masculina. A partir de então, passou a receber mulheres em seu próprio apartamento. O diligente oriental, em sábados alternados, trazia a mercadoria, usando discretamente a entrada da garagem.
Quando conheceu melhor o cliente, Efram passou a trazer meninas de 13, 14 anos, filhas de imigrantes, cedidas pelos próprios pais em troca de dinheiro. Eram instruídas pelo cáften a tirar suas roupas e exibir seus corpos púberes, os seios mal desabrochando, os ralos pêlos púbicos deixando o sexo à mostra.
Clive masturbava-se diante delas, a respiração ofegante, os olhos fixados no corpo das adolescentes, a maioria assustada. Mas havia as que se divertiam. Outras até se excitavam.
Enquanto durava a exibição, o servil Efram aguardava pacientemente na sala. Mais tarde, recolhia ele mesmo o cachê e retirava-se tão discretamente como havia chegado. Antes, indagava se Maugh gostara da mercadoria e combinava a próxima entrega.
Mesmo assim, o inglês detestava os fins de semana. Gostava mesmo das noites de domingo, quando a verdadeira ação voltava a acontecer. Ali, ao telefone, usando sua calculadora e seu computador, sabia que era o melhor.
Encontrava-se especialmente excitado aquela noite. Durante a semana, percebera um movimento acima do normal com as ações do Banco Comercial de Manhattan. Alguém as estivera comprando pesadamente. Os gráficos indicavam que aquele papel poderia subir muito.
As Bolsas de Tóquio e Hong Kong abriram estáveis e com pouco volume. Enquanto vigiava as cotações estampadas na tela a sua frente, Maugh passou a estudar o comportamento, na semana anterior, em Nova York, das ações do Manhattan, com as quais esperava lucrar muito a partir da segunda-feira. Mas, antes, era preciso estudar os gráficos, os balanços do banco, a composição do quadro acionário. Era necessário também preparar um questionário para Otto Behr. Tudo ainda na noite de domingo.
O inglês estava satisfeito. Só uma coisa o aborrecia: uma reportagem no jornal daquele dia sobre o mago de Wall Street, Julius Clarence. Odiava o americano. Ao lembrar-se dele, sentiu vontade de voltar ao banheiro.
CAPÍTULO 33
Enquanto Clive Maugh estudava o Banco Comercial de Manhattan, tentando descobrir por que suas ações tinham sido tão negociadas na semana anterior, Julius Clarence também dedicava seu tempo àquele banco.
Embora ignorasse a existência de Maugh, Julius temia que, àquela altura, algum analista mais esperto pudesse estar percebendo o aumento no volume das ações do Manhattan no mercado de balcão. E Clarence era o responsável por isso; nos últimos três meses as vinha comprando, a princípio lentamente, agora com agressividade.
Sete horas da noite. Julius encontrava-se no escritório de sua casa, absorto na leitura de atas de assembléias do Manhattan, relações de conselheiros e vice-presidentes e mapas de acionistas. Por força do hábito, mantinha ligados os terminais com as cotações de Tóquio e Hong Kong. Mas seu único objetivo, no momento, era apoderar-se do Banco Comercial de Manhattan, uma operação arriscada. Nada mais o interessava.
O dia fora agitado e divertido. Assistiram às corridas em Belmont, ele, Francine, Martin e Lora com as meninas, Bernard e a noiva Lisa. Sem nenhum adversário a lhe oferecer resistência, Mississippi Saylor obteve sua terceira vitória em três apresentações. Desta vez como grande favorito, pagando apenas sete por cinco. Martin também viu dois de seus cavalos vencerem outros páreos daquela tarde. Voltaram satisfeitos. Francine, então, não cabia em si de tão radiante.
Durante a semana, Clarence reforçara sua posição. Utilizara diversas corretoras na operação, tentando protelar ao máximo o momento em que o mercado perceberia o interesse de alguém pelo banco. Mas ele sabia: cedo ou tarde, os observadores mais astutos notariam o aumento no volume de negócios e no preço dos papéis.
Tentava ser o mais discreto possível. Conhecia bem Wall Street. Se corriam rumores dando conta de alguém comprando alguma ação mais agressivamente, pronto! Acontecia o estouro da boiada. Todo mundo fazia o mesmo, sem saber se a empresa valia ou não aqueles preços. Todos queriam o lucro fácil de uma alta repentina.
Clarence sabia ser inevitável que as atenções se voltassem para o Manhattan. Mas desejava retardar esse momento ao máximo, para quando já tivesse um lote suficiente para poder detonar a operação. Por isso, agia de maneira camuflada, usando um fundo das Bermudas e deixando de fora a Associados.
Se começassem a falar que ele cobiçava o Manhattan, o preço iria às alturas. Poderia, então, vender suas ações e obter um grande lucro. Mas não era sua intenção. Queria adquirir o Comercial.
Outras pessoas estavam envolvidas na operação: Alan Payne, Bernard Davish, Basil Kennicot e Abdul al-Kabar, representado pelo advogado londrino.
Dois acontecimentos sem importância e sem conexão entre si haviam despertado seu interesse pelo banco.
Francine, pouco depois do casamento, começara a jogar tênis em um clube de Greenwich. Uma de suas parceiras, Lucille Griffith, era casada com um tal de Thomas Griffith, vice-presidente do Manhattan. Um dia, durante o café da manhã, Francine comentou incidentalmente:
– Imagine, Julius, a Lucille, ela mora aqui perto, ganhou do marido, de presente de aniversário, um anel de brilhantes. Ela diz que custou 25 mil dólares. Estava usando o anel ontem no clube. Mostrou para todo mundo. O marido dela é vice-presidente do Banco Comercial de Manhattan.
– Ah, Francine, as pessoas gostam de se exibir, Ainda mais para você, por causa de seu pai, de mim mesmo. Tem sempre alguém querendo impressionar. Vai ver, o anel não vale 5 mil. Ninguém usa uma jóia de 25 mil dólares para jogar tênis.
Mais tarde, ainda naquela manhã, conduzindo a limusine pela 95 rumo a Nova York, Antoine quebrou seu silêncio habitual e dirigiu-se ao patrão, ocupado em ler o jornal no banco traseiro.
– Senhor Clarence, desculpe incomodar, mas, se o senhor não se importa, eu preciso de um conselho. Não entendo muito dessas coisas de finanças e de bancos. Sempre joguei o boxe; agora dirijo para o senhor. Mas tenho lá em casa umas ações do Comercial de Manhattan, que comprei há dois anos atrás com o dinheiro que sobrou das lutas e estava na poupança. Foi a pior coisa que fiz em minha vida. A minha mulher, a Bonnie, o senhor conhece a Bonnie, ela é americana e muito esperta para essas coisas de dinheiro, ela está mandando eu vender as ações porque elas não param de cair.
– Quanto você investiu? – Julius lembrou-se imediatamente do anel da parceira de Francine.
– Apliquei mais de 20 mil. Agora, as ações não valem 4 mil. Sempre pensei em me aposentar com esse dinheiro. Mesmo aquele pagamento que eles fazem todos os semestres, os dividendos, também está cada vez menor. Estou muito angustiado. O senhor não poderia dar uma olhada para mim? Se não se importa, é claro.
Clarence ficou curioso. Além disso, desejava ajudar Antoine, como era de seu feitio com os empregados. Chegando ao escritório, pensou em chamar um dos analistas do departamento técnico. Mas uma intuição, um sexto sentido, o levou a convocar Alan Payne.
Quando Alan chegou de Ridgefield, Julius já se arrependera de convocar seu chefe de Inteligência apenas para saber se Antoine estava sendo enganado. Mas, estando já Payne em sua sala, seguiu adiante.
– Alan, acho que chamei você à toa. Francine me contou hoje uma história de um anel de 25 mil dólares. Pouco depois, no carro, Antoine me falou de umas ações que está guardando para sua aposentadoria. Alan, dê uma espiada no Banco Comercial de Manhattan.
– Algum detalhe em especial, chefe?
– Não, não, apenas informações genéricas. Sabe como é. Pesquisa pura. Como fazem nas universidades. Mas faça isso em sigilo. Quem sabe descobrimos algo interessante.
Julius já se esquecera do caso quando, uma semana depois, Alan telefonou de Ridgefield.
– Chefe, já tenho alguma coisa para mostrar do Comercial de Manhattan. – Julius custou a perceber do que estava falando. – Gostaria de ir aí pessoalmente.
Pouco depois, Payne mostrava o resultado de suas investigações.
– Lucille Griffith não mentiu. Realmente seu anel custou ao marido Thomas, ele é vice-presidente de crédito do Manhattan, 25 mil dólares. Mas sua mulher não é a única a ser presenteada com jóias. A amante – Payne lançou um olhar malicioso –, Dominique Smith, também recebe presentinhos de alto valor.
Uma luz de interesse acendeu-se nos olhos de Clarence.
– Thomas Griffith não é o único perdulário – continuou Alan. – O mesmo ocorre com os outros vices. Todos possuem hábitos dispendiosos, compram automóveis de luxo, barcos, fazem suas viagens de lazer no jato executivo do banco. Também colecionam obras de arte, algumas valiosas. Encontram-se com as garotas de programa mais caras da cidade. Moram em bairros e subúrbios valorizados, dois deles em Greenwich.
– Com relação às ações do banco, foi possível apurar alguma coisa? – Clarence começava a farejar algo mais que mexericos pessoais.
– Claro, claro, deixei essa parte para o final. Há dois anos, o banco vendeu ações ao público. Fez isso de porta em porta, através de uma rede de vendedores. Esses papéis acabaram sendo um péssimo negócio para os compradores, não é à toa que Antoine está se queixando, mas, como eu ia dizendo, as ações estão caindo desde aquela época. O preço atual, no mercado de balcão, é de 10 dólares, um quinto do preço de lançamento.
Julius interrompeu para pedir a Diane que mandasse buscar sanduíches e refrigerantes. Estava interessado demais para interromper o relatório e sair para almoçar.
Enquanto a comida não chegava, Payne prosseguiu:
– As coisas que eu descobri, se usadas convenientemente, podem colocar a diretoria do Manhattan, em peso, na cadeia. Eles exercem várias atividades fraudulentas. Quando atuam na bolsa, passam os maus negócios para o fundo de investimentos administrado por eles mesmos. As melhores operações são, invariavelmente, lançadas nas contas dos diretores.
Alan retirou da pasta alguns papéis. Relatórios semestrais do Fundo de Investimentos Manhattan e balancetes do banco. Passou-os a Clarence.
– É evidente que, com tanta roubalheira, os resultados são magros. Os dividendos vêm se reduzindo nos últimos anos, em prejuízo de milhares de pequenos acionistas. Não é de surpreender que os papéis estejam tão baixos.
Pouco depois, Diane trouxe os sanduíches e as bebidas. Enquanto mastigava, com um gesto, Julius, ansioso, mandou Payne prosseguir. Este desistiu de dar a primeira mordida em um suculento cachorro-quente inundado de chili.
– Nosso pessoal também já analisou o Comercial, não sei se você sabe disso. – Clarence não sabia. – Nos últimos quatro anos, nossos analistas vêm recomendando, sistematicamente, aos clientes da casa que se livrem desses papéis, apesar do enorme patrimônio do banco. – Alan não resistiu, deu a primeira dentada no hot dog e só então concluiu, ainda de boca cheia:
– Um relatório, feito há dois anos aqui na Associados, resume tudo: se o Manhattan fosse melhor administrado, suas ações poderiam valer cinco ou 10 vezes mais. Mas os caras botam os lucros no próprio bolso. Não sei como a Comissão de Títulos e Câmbio deixou passar isso. O Comercial deve ter um contador muito bom para mascarar os livros.
Enquanto comiam, a idéia começou a brotar na cabeça de Julius. Depois, após a saída de Payne, não conseguiu mais pensar em outra coisa, a não ser no Comercial de Manhattan. Comprar a instituição. Certamente, uma operação arriscada, envolvendo grandes valores, possivelmente dezenas de milhões.
Nos dias subseqüentes, estudou demoradamente o assunto com Alan Payne e Bernard Davish, agora o segundo homem da mesa. Quando Antoine lhe perguntou, aflito, sobre suas ações, aconselhou o motorista a ficar quieto, segurá-las por algum tempo.
Payne foi encarregado de estudar a história do banco, a vida dos diretores, verificar o cargo e a função de cada um, seus bens e hábitos pessoais, nome de suas mulheres, amantes, enfim: saber tudo sobre a instituição e seus executivos.
A Davish coube estudar o perfil dos acionistas, obter a relação com os nomes, quantidade de ações, verificar quem comparecia às assembléias.
Quando soubessem tudo, se a compra fosse viável, Julius iria até Kennicot em Londres para estabelecer um contato com Abdul al-Kabar. Caso contrário, aconselharia Antoine a vender seus papéis e esqueceria o caso.
Os dois homens trabalharam rápido e apresentaram o resultado de suas pesquisas alguns dias mais tarde, um domingo, em Greenwich.
Alan Payne fizera uma investigação minuciosa. Falou primeiro.
– O Manhattan foi fundado em 1925 por Walter Monroe. Manteve-se sólido durante o crash da bolsa, em 1929, quando centenas de bancos foram à falência. Na época Monroe sentou-se ao caixa e descontou, pessoalmente, os cheques das pessoas, naqueles dias o pânico era geral – frisou, como se Julius e Bernard não soubessem. – Mas, como dizia, das pessoas que corriam, em massa, para retirar seu dinheiro. Mas o tempo foi passando, todos perceberam que o banco continuava lá, firme, e voltaram a depositar suas economias, agora preciosas com o início da depressão.
Enquanto Alan falava, Bernard consultava suas próprias anotações e assentia satisfeito. O outro continuou.
– Walter Monroe manteve sua política conservadora, contrária a riscos. Emprestava a juros baixos, cercava-se de todas as garantias. Só fazia negócios com empresas e pessoas sólidas e insuspeitas. Tinha hábitos moderados. Não bebia nem jogava. Seu único pecado era a gula. Monroe era extremamente obeso. Provavelmente morreu por causa disso. Sofreu um ataque cardíaco, em seu escritório, aos 54 anos, em 1939. – Payne fez uma careta tentando interpretar a morte súbita do banqueiro, 30 anos antes. Exibiu uma foto amarelada de um homem muito gordo e, só então, prosseguiu.
– Monroe deixou dois filhos. O mais moço, David, foi morto pelos japoneses, aos 25 anos, em Iwo Jima. James, o filho sobrevivente, dirigiu o negócio até 1965, quando também morreu, de câncer, aos 48. O banco ficou, então, nas mãos de sua mulher, Ethel, e do filho, Edward, 23, homossexual e perdulário, um cara completamente devasso. A partir daí, o banco começou a descer morro abaixo.
– Apesar disso, ele continua lá, mandando. – Clarence também estudara alguma coisa do Manhattan.
– Bem, Julius, a mãe, Ethel, nada entendia de negócios. Além disso, era a única pessoa no mundo que confiava no filho. Deu a ele procuração para administrar tudo. E foi o que ele fez. De início, mudou a diretoria. Colocou como administradores os parceiros de suas estrepolias na cama. Estes se comportaram à altura. Aumentaram seus próprios salários e passaram a usar o Manhattan para financiar seus negócios particulares. Estão lá até hoje. Debitam seus gastos pessoais, cartões de créditos, viagens, tudo no banco. Só se preocupam em permanecer nas boas graças de Ted Monroe. Nesse ponto, os pilantras são competentes.
O chefe da Inteligência exibiu, então, diversos documentos e relatórios, mostrando como, nos últimos quatro anos, desde a morte de James Monroe, o Comercial se vira tomado por uma malta de velhacos.
– Só por um milagre isso ainda não é de conhecimento público. Mas não demora a acontecer – concluiu.
Bernard Davish falou em seguida.
– Muito interessante, o Manhattan. Um caso típico de empresa de terceira geração. O fundador, homem honesto e trabalhador, constrói o negócio. Os filhos, no caso um só, pois o outro morreu ainda jovem, continuam desenvolvendo o negócio, mirando-se no exemplo do pai. A terceira geração, no caso do Comercial, apenas o inconseqüente Ted Monroe, põe tudo a perder.
Julius e Alan Payne eram só ouvidos.
– Descobri outras coisas – prosseguiu ele. – Edward e a mãe possuem apenas 17% do capital. Após a crise de 1929, o banco vendeu ações a seus próprios correntistas. Durante anos, décadas, podemos dizer, pagou bons dividendos. Então, há quatro anos, quando Edward assumiu a direção, iniciou-se a fase de decadência. Os dividendos começaram a cair – fez um ar compungido, como se fosse um dos prejudicados.
– Há dois anos, Monroe vendeu ações ao público. Foi quando seu motorista, Antoine, comprou as dele. Atualmente, mãe e filho têm, como já disse, 17%. O restante está pulverizado entre pequenos acionistas, os descendentes dos investidores dos anos 30 e os infelizes que compraram os papéis lançados há dois anos.
– Os títulos são negociados no mercado de balcão – explicou. – Têm pouca liquidez e as cotações vêm caindo sistematicamente. Valem hoje um quinto do preço de dois anos atrás e um décimo do que valiam quando morreu James Monroe, há apenas quatro anos. Os dividendos são simbólicos. O Manhattan paga dividendos apenas para não chamar a atenção da Comissão de Títulos e Câmbio.
Bernard remexeu alguns papéis em sua pasta, encontrou o que procurava e prosseguiu:
– Outra coisa interessante. A diretoria realiza as assembléias em datas, horários e locais cuidadosamente escolhidos. A última delas foi realizada numa sexta-feira, dia seguinte ao Dia de Ação de Graças do ano passado, às 5h da tarde. Imaginam onde? Na 9ª Avenida, perto do terminal de ônibus, em um auditório do Exército da Salvação. – Agitou no ar a cópia da assembléia, que trouxera consigo. – Estavam lá apenas alguns pilantras, o tempo todo elogiando a administração. Posso afirmar, sem medo de cometer injustiças: o Manhattan é um ninho de ratazanas desprezíveis, desonestas e incompetentes.
Davish voltou à pasta, retirou outra folha, como um mágico sacando coelhos da cartola, e abriu um sorriso, baixando o tom de voz.
– Por outro lado, o patrimônio do banco é respeitável. São muitas agências, todas em imóveis próprios, várias lojas e escritórios, em geral mal alugados. Possui também terrenos em Long Island, um bom investimento feito pelo fundador Walter, nos anos 30, quando as propriedades eram baratas. – Bernard parou por alguns segundos, só para criar suspense. – Se fosse dirigido por uma administração competente, o Comercial valeria 20 vezes mais.
– Quanto? – Clarence não conseguiu conter a ansiedade. – Quanto vale tudo isso?
– Teoricamente, 40 milhões, pois o capital é composto de 4 milhões de ações, e elas estão largadas, cotadas a 10 dólares. Apenas teoricamente, pois, tão logo alguém comece a demonstrar interesse, o preço sobe. Por outro lado, com apenas 20% do total, pode-se adquirir o controle. Se alguém comprar esses 20% ao preço médio de, digamos, 60 dólares, terá gasto cerca de 50 milhões e controlará o banco.
Davish fez mais uma paradinha e finalizou enfático:
– Bem administrado, o Banco Comercial de Manhattan poderá valer 800 milhões, suas ações a 200 dólares cada uma.
Se Alan Payne e Bernard Davish tiveram a intenção de impressionar o patrão, conseguiram.
Clarence marcou uma entrevista com Kennicot e embarcou para Londres, a fim de propor nova sociedade aos Al-Kabar, especificamente para a compra do Manhattan.
A decisão dos árabes fora rápida, Desde então, Julius iniciara, da maneira mais discreta possível, uma verdadeira caça ao papel no mercado de balcão.
Naquela noite de domingo, refazia suas contas. Reunira, até agora, 100 mil ações, pelo preço médio de 15 dólares. Gastara pouco: somente 1 milhão e 500 mil dólares, mas, por outro lado, conseguira somente 2,5% do banco.
Em poucas semanas, as ações haviam dobrado de preço, para 20 dólares, para alegria de Antoine e preocupação de Julius. Ficaria muito mais preocupado se soubesse que Clive Maugh, sempre à espreita para um bote, também voltava sua cobiça para o Manhattan.
CAPÍTULO 34
As operações de Clive Maugh baseavam-se em suas próprias pesquisas, feitas de maneira metódica e organizada. Esses estudos incluíam os mercados do Extremo Oriente, da Europa e da América, não só as bolsas de valores como também os mercados de balcão, assim chamados os negócios feitos por telefone diretamente entre os operadores de bancos e corretoras.
Para cada ação estudada, Maugh compilava os preços, dia a dia, e os volumes de negociação. Esses números eram repassados à memória de seus computadores e transformados em gráficos. Quando percebia qualquer reversão na tendência dos gráficos, o inglês fazia um estudo mais profundo, tentando descobrir se algo importante ocorrera na empresa.
Com esse procedimento sistemático, ao qual dedicava dezenas de horas semanais, o solitário operador do Sindicato era sempre um dos primeiros profissionais a perceber qualquer movimentação extraordinária no mercado, mesmo quando feita de maneira disfarçada, como era o caso, agora, do Comercial de Manhattan.
Quando pinçava uma empresa entre as demais para uma pesquisa mais detalhada, Maugh recorria a Otto Behr. Competia a este consultar o departamento técnico do Banco Centro-Europeu ou fazer uma investigação sobre a companhia. O inglês esperava o relatório da Inteligência e, só então, decidia se valia a pena comprar ou vender. Uma vez tomada a decisão, entrava pesado no mercado.
Naquela segunda-feira, antes mesmo de Otto responder ao questionário enviado pela manhã, Clive, impelido por forte intuição, decidira apostar nas ações do Manhattan. Aguardava apenas a abertura do mercado de balcão de Nova York, às 9h30 da manhã, 2h30 da tarde em Lausanne.
Usando corretores americanos, Maugh correu atrás do papel ao longo da tarde e do início da noite. Fê-lo de maneira resoluta. Começou pagando 20 dólares. Foi aumentando o preço à medida que os lotes se tornavam mais raros. Ao final do dia, fez suas últimas aquisições por 22 dólares.
As primeiras compras daquela tarde já estavam rendendo 10%, deixando-o satisfeito. Mas acreditava estar apenas no início de uma operação muito rentável. Por isso, permaneceu no escritório até tarde aquela noite examinando gráficos, balancetes e relatórios.
Imediatamente, Clarence desconfiou da existência de um concorrente. Resolveu fazer um teste. Ficou de fora na terça-feira, não passando ordens às corretoras pelas quais vinha atuando até o momento, de maneira dissimulada, para um fundo das Bermudas. Constatou desolado uma alta para 23 e 1/4. Não havia dúvidas. Outro predador pegara a pista.
Decidiu, então, atuar diretamente, usando sua própria equipe. Reuniu-se com seu pessoal. Agora, sua mesa poderia atuar com força. A briga passava a ser direta, sem subterfúgios ou dissimulações. A ordem era comprar, quanto mais melhor.
Na quarta-feira, Maugh recebeu o relatório de Otto Behr. Impressionou-se com o patrimônio do banco. Tal como Julius, três meses antes, percebeu que as ações poderiam valer muito mais. Entrou comprando pesado.
Naquele dia, o Manhattan fechou em 25 e 3/8. O Sindicato e a mesa da Clarence disputando. Surgiram boatos: Julius Clarence e um grupo europeu estariam puxando o papel. Os especuladores começaram a falar. Rumores corriam de mesa em mesa na América e na Europa.
– O Comercial vai a 50! – vaticinavam convictos os profissionais.
Na quinta e sexta-feira, toda a Wall Street ambicionava as ações. Os vendedores se retraíram. Os jornais comentaram.
Ao final da sexta-feira, Julius Clarence contava com 260 mil ações, ao custo médio de 19 dólares e 90 centavos. Com isso, controlava 6,5% do banco. Gastara três meses de trabalho e despendera pouco mais de 5 milhões.
Clive Maugh, em apenas uma semana, acumulara 240 mil ações, pelo preço de 23 dólares e 50 centavos. Desembolsara 5 milhões e 600 mil e conseguira para o Sindicato 6% do Manhattan.
No fim de semana, os jornais publicaram reportagens sobre o Comercial. Enquanto os especuladores liam, cobiçosos, as notícias, Clive Maugh preparou um relatório para seu presidente, René Russon. Segundo demonstrava no documento as ações poderiam valer até 100 dólares, graças ao enorme patrimônio do banco.
A essa altura, Alan Payne informara a Julius o nome do oponente, Banco Centro-Europeu de Lausanne, conhecido como Sindicato. Ao ver o tamanho do banco suíço, Clarence percebeu que subestimara sua tarefa. Reuniu-se com seu pessoal, no domingo, para definir as estratégias dos próximos dias.
A bordo de seu iate, no Mediterrâneo, Ted Monroe, satisfeito com a alta inesperada, decidiu oferecer, no mercado de balcão, mais 2% do Manhattan, reduzindo sua participação a 15%. Necessitava de fundos para financiar a busca de um galeão espanhol, carregado de moedas de ouro e prata, afundado ao sul de Barbados no século XVII. Seu amigo Sandro, alto, moreno e forte, precisava do dinheiro para encontrar tal tesouro. Edward não conseguia resistir ao apelo de seus olhos verdes. Que loucura, aquele garoto italiano.
Na semana seguinte, os preços dispararam. Clarence pagava o preço do vendedor, quando o lote era grande. De vez em quando, vendia um pouco, tentando, sem sucesso, esfriar o mercado. Clive Maugh simplesmente comprava. Raramente deixava a mesa para masturbar-se no banheiro.
Os antigos acionistas estavam atônitos. Alguns venderam suas posições. Outros, até há pouco desanimados com seus papéis, compravam mais e até o recomendavam aos amigos.
Entrevistado pelos jornais, o novo guru do mercado, doutor Vincent Cotten, autor do best-seller Descobrindo a quinta onda, previu uma explosão para cima no preço do Manhattan. Antecipando-se a seus vaticínios, engordou seu portfólio particular com um grande lote de ações do banco nova-iorquino, pronto a vendê-lo tão logo suas recomendações atraíssem levas de investidores, mantendo a tradição das profecias auto-realizáveis de Wall Street.
Três semanas após a entrada de Clive Maugh no mercado, as ações já estavam em 47. Clarence era dono de 14% do Manhattan, representados por 540 mil ações, em média por 25 dólares e 10 centavos.
O Sindicato juntara sua mesa de operações ao esforço de Maugh, embora ele não se entusiasmasse com isso. Os suíços também somavam 540 mil ações, pelo preço de 29 dólares e 30 centavos.
Nenhuma das duas instituições sabia quanto possuía o adversário, como também não conhecia suas intenções. Ted Monroe continuava sendo o maior acionista, com uma exígua vantagem de 1% sobre os outros dois.
Se qualquer uma das três partes conseguisse dobrar uma das outras, ficaria com o controle acionário, pois os restantes 57% permaneciam com pequenos acionistas, agora retraídos, na expectativa de altas ainda maiores.
Para Julius, Alan e Bernard, Edward Monroe e seus diretores eram cartas fora do baralho. Não tinham capital para enfrentar a Associados – com seu apoio árabe – e o Centro-Europeu. Caberia a um desses dois, ao final da disputa, tomar posse do Manhattan.
Restava a Clarence brigar com os suíços ou entrar em acordo com eles. Se repassasse suas ações ao Sindicato, por 100 dólares cada uma, a Associados e os Al-Kabar teriam, juntos, um lucro em torno de 40 milhões. Comprar do Sindicato pelo mesmo preço seria ainda melhor, muito melhor. Significava controlar um banco cujo valor Davish calculava em 800 milhões, suas ações podendo chegar a 200 dólares, com uma boa administração.
Mas Julius queria o Comercial e planejava sua estratégia visando esse objetivo. Entretanto, o Sindicato tinha mais poder de fogo, tinha consciência disso, mesmo se os árabes comparecessem com um reforço de caixa.
Restava, então, descobrir o objetivo dos suíços. Estariam apenas especulando ou realmente queriam o banco?
Já era noite de domingo. Julius confabulava com seus dois homens na pequena sala anexa ao salão de festas de Greenwich. Os três relaxavam com um excelente malte puro de Whyte & Mackay. Clarence fazia as recomendações finais para a semana.
– Bernard, a meu ver, estamos empatados com os suíços. Não quero mais perder posição para eles. Gastamos, até agora, menos da metade do capital levantado para este negócio. Temos ainda muito fôlego para continuar.
Davish aquiesceu. Também achava que a briga estava pau a pau. Julius sorveu um gole do Mackay e comandou:
– O mercado fechou sexta-feira a 47. Comece a pagar 50 amanhã cedo. É um número redondo. Deve ser o objetivo final para muitos especuladores. Vamos ver se chegamos no final da semana a 700 mil ações. Quero esquentar o mercado para valer. Mas não conseguiremos o banco por aí. Este caso vai ser resolvido cara a cara, olho no olho, diretamente com os homens de Lausanne. – Voltou-se, então, para Payne.
– Tenho uma missão especial para você. Dou-lhe carta branca e caixa aberto para descobrir se aqueles suíços querem assumir o controle do Manhattan ou apenas dar uma porrada. Coisa difícil de saber, eu sei. Portanto, se você não conseguir, não haverá cobrança. Mas tente. Use todos os meios a seu alcance.
Pouco depois, Clarence levou os dois até a porta. Fez Bernard embarcar em seu carro primeiro. Quando este já se afastava, entregou um papel a seu chefe de Inteligência. Esclareceu:
– Você vai entrar em contato com esta pessoa. Chama-se Sandra. Mora em Düsseldorf. Trabalha para uns amigos nossos. Lembra-se da Guerra dos Seis Dias? Foi quem informou do ataque israelense antes de você. Até agora, ela podia entrar em contato comigo mas eu não tinha seu telefone. Esta semana, consegui do pessoal para quem ela trabalha autorização para obtermos sua ajuda neste caso. Procure-a. Nossas chances irão aumentar. Boa sorte.
CAPÍTULO 35
Clarence ainda dormia, mas já era manhã de segunda-feira em Lausanne. Como de hábito, René Russon chegou ao Sindicato às 9h. O Citroën negro, suspensão hidropneumática, transpôs silenciosamente a canaleta de água à entrada da garagem do Centro-Europeu. O veículo mergulhou rampa abaixo, a traseira erguida, exibindo, de maneira obscena, as ferragens e o cano de escapamento. Parou junto ao elevador.
O motorista saiu do carro e deu a volta por trás. Do outro lado, abriu a porta traseira com a mão direita enquanto, com a esquerda, sacava o boné respeitosamente. Sem se dar ao trabalho de agradecer ao serviçal, Russon entrou no elevador. Dirigiu-se ao último andar do prédio de cinco pavimentos, todos de propriedade e uso exclusivo do banco.
Já encontrou Otto Behr, a quem convocara pelo telefone do carro, em seu gabinete, conversando com a secretária na ante-sala. Dirigiu-se a uma segunda porta devagar o suficiente para que a moça chegasse antes dele e a abrisse. Numa demonstração de cortesia, que não lhe era habitual, ofereceu precedência a Behr. Este a recusou, constrangido.
Dentro do escritório, Russon não perdeu tempo com rodeios.
– Chamei-o a propósito daquele banco cujas ações estamos comprando no mercado. O Comercial de Manhattan. Até agora, o negócio tem sido excepcional, mas não estou gostando da publicidade. Desejo encerrar esse episódio o mais rapidamente possível.
Otto não esperava aquilo. Acompanhava a operação desde o início e sabia o quanto vinha sendo lucrativa para o banco. Russon percebeu a surpresa do subordinado e apressou-se em justificar.
– Não podemos ficar com ele. Nossa organização é fechada. Simplesmente não temos condições de dirigir uma instituição financeira americana. Ficaríamos expostos. O presidente daquele banco é um idiota, além de pederasta. Não tem como comprar nossas ações. Resta-nos vendê-las ao senhor Clarence, o americano.
– Se ele desconfiar disso, certamente saberá tirar proveito da situação. – Behr começou a perceber o motivo de sua convocação.
– Nada mais exato, senhor Behr. Por isso o chamei. É preciso que ele acredite em nosso interesse pelo Manhattan, não em uma jogada especulativa. Use de suas habilidades. Se o senhor Clarence se convencer de nosso interesse pelo Comercial, poderemos conseguir um preço excepcional. Talvez 100 dólares por ação. Isso nos dará um lucro de 40 milhões. Engordará sua gratificação, senhor Behr.
Russon disse isso e levantou-se, determinando o fim da conversa. Otto também se ergueu, rapidamente. Ouviu uma última ordem:
– Quanto ao nosso operador, o inglês, mantenha-o acreditando na história. Isso aumentará sua agressividade. Assustará o americano.
Reflexo condicionado de um passado distante, Otto bateu os calcanhares e dirigiu-se a sua sala, a fim de desenvolver seus planos. Seguiu satisfeito. Gostava daquele tipo de trabalho. Quanto à gratificação, viria em boa hora. Ajudaria nas obras de sua villa em Maiorca.
Na quarta semana de luta pelo Manhattan, a Associados e o Sindicato compraram agressivamente. O preço elevou-se a 55. A essa altura, em Wall Street, todos especulavam com o Comercial. “Vai a 100”, espalhava-se.
Vincent Cotten, o guru da moda, jactava-se de suas previsões. Bem abaixo na pirâmide social, Antoine, motorista e boxeador, por acaso o verdadeiro responsável por tudo, mal cabia em si de tão radiante, embora não chegasse a compreender por que suas ações não paravam de subir. Mas sua mulher, Bonnie, acompanhava as cotações.
– Tom, meu querido – dizia ela –, estamos ricos. – Como a Bonnie estava gostosa na cama ultimamente.
Julius permanecia no comando das operações, destinando ao Manhattan cada momento do dia. Sentava-se à mesa, junto aos outros, e negociava pelo telefone. Foi de lá que falou com Clive Maugh pela primeira vez.
Os operadores de mercado costumam oferecer à venda títulos que desejam comprar e à compra papéis que querem vender. Blefam para obter melhores preços. Às vezes se dão mal, compram o que precisam vender e vice-versa. Mas é parte do jogo. Os bons profissionais sabem conviver bem com esses acidentes de percurso.
Clarence era o grande comprador do Comercial. Todos sabiam disso. Por isso, ligavam para sua corretora com ofertas extravagantes. Os operadores da Associados tentavam baixar os preços, oferecendo mais barato. Não raro, viam-se forçados a ceder algumas ações. Ossos do ofício.
Julius, quando ao telefone, gostava de mostrar lotes grandes para pressionar o oponente. Geralmente, conseguia assustar o profissional do outro lado da linha e derrubava os preços.
Na quinta-feira da quarta semana de luta pelo Manhattan, o papel estava em 57. Nesse dia, Clive Maugh decidiu ligar diretamente para a Associados. Coube a Julius, sentado à mesa, atender. Maugh identificou-se:
– Aqui Clive, Centro-Europeu, Lausanne. Como opera o Manhattan?
Clarence se excitou com a presença da instituição adversária.
– O.k., aqui Julius, vendo a 58.
– Lote? – perguntou Maugh.
– Duas mil – Clarence se divertia.
– Comprei. Como opera agora?
Julius já não achou tão engraçado. Mesmo assim, tentou intimidar.
– Vendo 4 mil a 58,25.
– Comprei. Como opera agora?
Clarence persistiu no erro mais uma vez. Além disso, exagerou.
– Vendo 10 mil a 59.
– Comprei. Como opera agora? – Clive estava quase em orgasmo.
– Estou fora. – Julius sentia-se um completo idiota.
– Pois eu compro 20 mil a 60. Compro 40 mil a 60. Compro 100 mil a 60 dólares. Quer fazer negócio?
– Não, já disse que estou fora.
Ao desligar o telefone, Clarence notou o silêncio na sala, todos os olhares voltados para ele. Procurando parecer o mais digno possível, virou-se para o caixa.
– Anote aí, garoto. Vendi 16 mil Manhattan para o Centro-Europeu. Duas mil a 58, 4 mil a 58,25 e 10 mil a 59. – Levantou-se, então, subitamente. Bateu na mesa com a palma da mão.
– O.k., pessoal, já levamos no rabo o suficiente por hoje. Vamos repor as 16 mil. Podem pagar 60. – Como operador tarimbado, sabia absorver seus prejuízos rapidamente.
Os operadores tomaram de seus telefones e, em menos de uma hora, recuperaram as 16 mil ações, pagando 60. A brincadeira custou 17 mil dólares. Dessa maneira, Clarence conheceu e começou a respeitar Clive Maugh.
O inglês, na falta de alguém para se vangloriar do episódio, como faria qualquer colega de profissão, ignorou o imbecil do Ferraro, ao lado, e foi masturbar-se no banheiro. Depois, teria o prazer de relatar o ocorrido diretamente ao senhor Russon.
Após o fechamento, Julius recebeu um telefonema de Lausanne. O presidente do Centro-Europeu desejava falar-lhe pessoalmente. Informado da operação daquele dia, Russon tentava se aproveitar do momento de fraqueza do adversário.
– Senhor Clarence, não sei se já ouviu falar a meu respeito, mas tenho certeza de que conhece nossa casa.
– Naturalmente, senhor... Russon, espero que a pronúncia esteja correta.
– Oh, as línguas são terríveis obstáculos, às vezes. Mas não no meu caso, senhor Clarence. Nós, os suíços, não nos definimos bem com relação ao idioma. Por isso, falamos vários. No meu caso, domino perfeitamente o inglês, além de outros, naturalmente.
– Mas, senhor Russon, a que devo a honra?
– Senhor Clarence, não é segredo para ninguém o fato de estarmos disputando o controle da mesma instituição. Por isso, em meu entender, já é hora de negociarmos diretamente. Caso contrário, o mercado todo continuará ganhando dinheiro a nossa custa. O Centro-Europeu é gestor de um patrimônio respeitável. – Russon tentava intimidar o oponente. – Mas não construímos nossa reputação jogando dinheiro pela janela.
– Acho uma excelente idéia. O senhor tem alguma sugestão para o encontro?
– Confesso que sim, senhor Clarence. Existe uma pequena localidade, 60km ao sul de Paris. Chama-se Barbizon. Uma vila de artistas, extremamente agradável, junto à floresta de Fontainebleau, Às vezes, vou até lá no fim de semana. Fico na Hostellerie Les Pléiades. A cozinha é magnífica. Que tal domingo, às 8h da noite?
– Deixe-me anotar. Barbizon, Les Pléiades, domingo às 8h. Estarei lá, pode contar com isso.
À noite, Julius jantou com Payne no apartamento de Manhattan. Enquanto Jesus lhes servia um linguado com alcaparras, Alan revelou suas primeiras conclusões:
– Até agora, tudo indica que o Centro-Europeu quer mesmo o Comercial. Desejam comprar nossas ações pelo menor preço possível. Estou quase certo disso.
Clarence indagou, contrariado:
– Posso saber como está chegando a essa conclusão?
– Eu explico. Investigamos minuciosamente. Coletamos rascunhos amassados, com planos para o Manhattan, na lixeira do banco em Lausanne. Auditores do Centro-Europeu examinaram balancetes do Comercial na Comissão de Títulos e Câmbio em Washington. O presidente deles, René Russon, está procurando nomes importantes de Wall Street para constituir a diretoria. A intenção deles é comprar nossa parte. Lamento, mas é minha opinião, pelo menos neste momento.
– E quanto a Sandra. Falou com ela? – A voz de Julius continuava denotando irritação.
– Falei. Falei duas vezes. Ela vai me passar suas conclusões até segunda-feira, pela manhã. Tão logo desligue o telefone, entro em contato com você. – Payne, embora aborrecido pelo fato de Julius Clarence usar outra pessoa para obter informações, notara, no rápido contato mantido com a moça de Düsseldorf, que ela parecia uma profissional qualificada.
– É tarde, Alan, segunda-feira é tarde. Tenho um jantar marcado com Russon, domingo à noite, perto de Paris. Se até lá sua opinião for a mesma e se a Sandra concordar com você, serei obrigado a vender. Não tenho condições de competir com aqueles suíços. Os caras controlam centenas de milhões. Podem até negociar diretamente com Edward Monroe e pagar 40 ou 60 milhões pela parte dele. Nesse caso, ficaremos como minoritários, à mercê deles.
Deu, então, suas últimas instruções, transparecendo toda a sua decepção:
– Viajo amanhã à noite para Paris. Levo Francine comigo. Ficaremos no apartamento dela. Você tem o telefone. Domingo sairei para o jantar às 7h. Haverá um telefone na limusine. Francine terá o número. Se até as 8h não receber notícias suas, tentarei vender nossas ações pelo melhor preço. Mais tarde, conseguiremos outro banco. Mas posso lhe garantir, Alan: oportunidade igual a esta dificilmente vai se repetir.
CAPÍTULO 36
Clarence chegou à Hostellerie Les Pléiades ainda sem notícias de Alan Payne. Aguardou na limusine, estacionada na Grande Rue, em frente à entrada da pousada, até o último minuto. Apesar do desapontamento, entrou no restaurante exibindo a característica fisionomia jovial.
No jardim dianteiro distribuíam-se várias mesas, a maior parte tomada naquele fim de tarde dominical de verão. Julius dirigiu-se à recepção à direita de um salão, também lotado. Indagou à moça por Russon.
– Senhor Clarence, não? – perguntou solícita. – Está sendo esperado. Um momento, chamarei o maître.
Não demorou muito e o maître, cheio de mesuras, conduziu Julius por entre as mesas. Levou-o até outra porta. Havia outro jardim, situado em plano inferior. Lá, na única mesa existente, René Russon o aguardava.
Julius apresentou-se ao banqueiro. Este respondeu tentando ser cordial, o que não lhe caía naturalmente.
– Cumprimento-o pela idade e pelo sucesso prematuro. A idade, todos passam por ela. Quanto ao sucesso, bem poucos. Felizmente, ainda pode sofrer decepções. Eu não posso mais. Portanto, se as coisas não correrem bem para o senhor esta noite, ainda terá bastante tempo de recuperar-se de alguma frustração.
Os dois sentaram-se à mesa, praticamente lado a lado, de frente para o salão do restaurante. Atrás deles havia uma cerca viva, separando-os da floresta. O dia ainda estava claro. Uma brisa vespertina tornava a temperatura extremamente agradável.
Clarence vestia calças cinzentas e um blazer azul-marinho sobre uma camisa branca listrada, sem gravata. O banqueiro trajava um austero jaquetão preto.
Enquanto um garçom dispunha uma terrina de foie gras sobre a mesa, o suíço propôs as regras do jogo. Quem oferecesse o menor preço seria obrigado a vender. Sugeriu, para início de conversa, um lote de 600 mil ações para o negócio. Clarence não concordou. Propôs 640. Russon elevou o lote para 680. Clarence subiu para 710. O suíço puxou para 726 mil.
Julius lamentou ser obrigado a parar em 710. Cumprimentou o adversário por ter conseguido um lote maior. Aproveitou o ensejo para elogiar o operador do Centro-Europeu, o inglês de nome Clive, cujo sobrenome desconhecia. Combinaram que o lote de Russon seria de 726 mil e o de Clarence, 710 mil. Faltava estabelecerem o preço e, mais importante, quem venderia para quem. Para isso estavam ali.
O maître veio à mesa e os dois fizeram seus pedidos. O banqueiro comandou saumon cru mariné au sel de Guérande e, para depois, entrecôte poélée, pomme au four, confiture d’échalotte. Julius decidiu-se por salade de magret séché par nos soins au paprika e darne de colin, sauce aigrelette.
Russon desculpou-se, mas só bebia água mineral. Clarence aceitou a sugestão do maître, um Saint-Déran branco.
Livres da escolha, os cavalheiros poderiam tratar de negócios.
Um garçom exibiu a garrafa do Saint-Déran. Clarence examinou o rótulo e aprovou com a cabeça. O profissional serviu um pouco. Julius degustou e aprovou novamente, como se conhecesse. O garçom voltou a servi-lo. Depois, envolveu a garrafa em um guardanapo e a colocou no balde com gelo na pequena mesa ao lado.
Russon foi o primeiro a propor negócio. Enquanto cortava uma fatia generosa do foie gras, disse incidentalmente:
– Vendo minhas ações a 250 dólares. – Estava começado o jogo, ao final do qual um dos dois controlaria o Banco Comercial de Manhattan.
Clarence bebeu um gole de vinho e retrucou:
– Meu trabalho seria bem mais fácil se, no mercado, pudesse fazer os negócios assim. Não cometeria tantos enganos. Não bebe nunca, senhor Russon? O Saint-Déran está simplesmente divino. Vendo meu lote a 240.
– Bom preço, senhor Clarence. Enquanto aguardava sua chegada, pensei na sorte dos acionistas do Comercial. Estão alheios a nossa conversa, mas, graças a ela, vão se livrar da corja que tomou conta do negócio. Vendo a 230.
O garçom trocou os pratos. Passou a servir o pato e o salmão.
– Costuma vir aqui freqüentemente, senhor Russon?
– Sempre, sempre. Barbizon é um recanto de artistas. Tem uma tradição de longa data. Este hotel, por exemplo, é a antiga casa do pintor Charles Daubigny. Gosto muito de pintura. Costumo vir em busca de talentos novos. Às vezes, consigo ótimas telas.
– Francine, minha mulher, é francesa, morou grande parte da vida em Paris, mas nunca me falou de Barbizon. Na primeira oportunidade, vou trazê-la aqui. Vendo melhor, a 220.
– Sou um homem antigo, senhor Clarence. Não gosto de precipitação. Estamos indo rápido demais. Prefiro um ritmo mais lento. Duzentos e quinze é o meu preço.
– Desculpe a afobação. Deve ser vestígio do meu tempo de operador de pregão na Bolsa de Chicago. Lamento, mas quero resolver logo este assunto. Vendo a 175.
Russon empalideceu.
O garçom serviu o peixe e o entrecôte. O suíço, cuja fome desaparecera subitamente, cortou um pedaço da carne e forçou a comida para dentro. Era preciso não demonstrar sua frustração. Olhou para o americano, tentando ler seu pensamento. Estava num dilema. Se reduzisse muito pouco a oferta de Clarence, sua intenção de vender estaria evidenciada.
A contragosto, ofereceu:
– Cento e sessenta.
– Uma delícia, o peixe. – A fisionomia de Julius não demonstrava qualquer emoção. – Não gosto de números redondos, são mais adequados a amadores. Cento e quarenta e nove – rebateu subitamente.
– Gosta de xadrez, senhor Clarence? Tem muita semelhança com esta nossa conversa. A cada lance faz-se necessário julgar as intenções do adversário. Talvez nós dois estejamos querendo vender o Manhattan. Quem sabe os dois desejam comprar? Finalmente, um pode desejar o banco; o outro, não. – Russon reassumira o controle dos nervos. – Jogo em meus dias de folga – continuou. – Com amigos. Às vezes, o faço por telefone. Já empatei com Botvinnik, numa simultânea, é claro. Quando tenho tempo, estudo Capablanca, o meu favorito. Mas não sei por que o estou aborrecendo com isso. Voltemos a nosso negócio. Insisto nos números redondos. Vendo a 140.
Embora tentassem disfarçar, ambos estavam tensos. Até quanto o outro poderia ceder? Cada 10 dólares para baixo significavam 7 milhões a menos. Ótimo para quem fosse comprar; péssimo para o vendedor.
– Uma oferta atraente, 140. Preciso refletir um pouco, como no xadrez.
O garçom serviu le brie de meaux. Julius continuou fazendo suspense. Estendeu as duas mãos sobre a mesa, as palmas em vertical, uma voltada para a outra. Moveu os dedos displicentemente na direção do suíço. Fulminou:
– Vendo meu lote de 710 mil ações a 75 dólares e 1 centavo e compro o seu a 75 redondos. Sim, também gosto de xadrez. Xeque.
René Russon calou-se. Seu rosto tornou-se branco-amarelado, as orelhas tingiram-se de rosa, quase vermelho. Retirou do bolso duas folhas de papel timbrado do Centro-Europeu. Registrou em cada uma delas a venda, naquele ato, de 726 mil ações do Banco Comercial de Manhattan a 75 dólares cada uma. Julius assinou um dos papéis, responsabilizando-se pela compra e o devolveu ao banqueiro. Ficou com o outro. O resto seria resolvido pelos respectivos advogados.
O suíço guardou o papel, levantou-se e inclinou ligeiramente a cabeça. Caminhou pelo terraço, subiu os dois degraus, passou pela recepção e subiu para seu quarto.
Julius comeu as duas sobremesas. Seus profiteroles au chocolat e a mousse de nougat glacé de Russon. Tomou o café lentamente. Pediu a conta. Enquanto aguardava, sentiu a brisa fresca soprando da floresta.
Quando o garçom voltou à mesa, Clarence não se deu ao trabalho de verificar quanto devia. Colocou 20 cédulas de 100 dólares no invólucro de couro que continha a nota e seguiu exultante para a porta.
Do lado de fora, ignorou sua limusine e caminhou pela calçada, olhando cuidadosamente para os carros estacionados. Finalmente, achou o que procurava. Apressou o passo, atravessou a rua e dirigiu-se a um carro estacionado em frente ao Bas-Bréau. Abriu a porta do lado direito e encontrou Alan Payne ao volante. Sentou-se a seu lado, colocou a mão sobre sua perna e perguntou de supetão:
– Como soube que ele queria vender?
– Há pouco mais de uma hora eu não sabia, chefe. Mas estava desconfiado. Depois do nosso último encontro, começaram a aparecer mais provas do interesse deles pela compra do Manhattan. Sabe como é, chefe. Provas demais. Comecei a desconfiar de que eles estavam plantando informações para fingir interesse e subir o preço. Mas faltava Sandra. O telefonema dela chegou às 8h05. Felizmente, eu me hospedei aqui no Bas-Bréau para poder atender uma emergência de última hora. Sandra foi clara. Me garantiu que o Centro-Europeu era vendedor, se conseguisse um bom lucro. Caso contrário, eles comprariam a sua parte e tentariam negociar todo o lote com outro banqueiro. Garota esperta, aquela.
– E como conseguiu colocar sua mensagem no rótulo do Saint-Déran?
– Isso foi mais difícil. Precisei dar mil dólares ao maître e mais mil ao garçom. Nem assim eles toparam imediatamente. Mas acabou prevalecendo o bom senso. Esses franceses gostam um bocado de dinheiro.
Dito isso, Alan Payne pegou no assoalho do carro a garrafa de Saint-Déran que, prudentemente, trouxera consigo. Em lugar do tradicional rótulo branco, preto e dourado, uma etiqueta branca, na qual se via claramente a mensagem:
De Ridgefield e Düsseldorf para a mesa de operações:
Ele é vendedor, desde que consiga um lucro razoável.
CAPÍTULO 37
Enquanto regressava a Paris, Julius telefonou para a casa de Kennicot. Narrou o jantar com Russon.
O advogado foi incisivo.
– Estava aguardando seu telefonema com uma certa ansiedade, confesso. Al-Kabar já tem o dinheiro para pagar o Centro-Europeu e comprar as ações de Monroe, se for o caso. Conseguiu também recursos para financiar sua parte na transação. Mas são necessárias outras providências urgentes. Precisamos nos reunir amanhã em Nova York com seu advogado. Melhor se viajássemos juntos. O senhor me colocaria a par dos fatos recentes. Poderíamos desenvolver nossa estratégia. Senhor Clarence, precisamos tomar aquele banco de assalto.
– Me dê uma hora. Verei se consigo fretar um avião. Posso pousar em Londres e cruzaremos juntos o Atlântico.
Julius conseguiu um jato executivo. Decolou de Orly duas horas após o jantar. Kennicot já o aguardava no Aeroporto de Gatwick. Pouco depois da meia-noite partiram para a América. Como passageiros, apenas Clarence, Alan Payne e Basil Kennicot. Francine ficou na França para visitar o pai em Toulouse.
Durante o vôo, Kennicot foi informado dos números. Clarence e Al-Kabar agora controlavam 36% do Manhattan, o suficiente para mudar a diretoria e assumir a administração. Pelo rádio do avião, entraram em contato com Bernard Davish. Este localizou o advogado da Associados.
A perda de horas era mínima, pois voavam para oeste. Depois de pousarem no Kennedy, Clarence e seus acompanhantes seguiram de helicóptero para o heliporto da Rua 60. De lá, para o apartamento de Julius.
Às 5h da manhã encontravam-se reunidos na cobertura.
Como os próximos atos seriam decididos de acordo com a legislação do estado de Nova York, Kennicot passou o comando a Richard Bradley, diretor jurídico da Associados. O inglês atuaria como consultor, representando os interesses da família Al-Kabar. Mas só ele e Julius sabiam disso.
Às 8h falaram com Edward Monroe, por sorte em Nova York. Seu mordomo, relutantemente, aquiesceu em despertá-lo. O banqueiro foi praticamente intimado a estar em seu escritório em Downtown, às 10h, para receber Clarence.
Pouco depois dessa hora, Monroe fez entrar Julius Clarence, Bernard Davish, Richard Bradley, Alan Payne e Basil Kennicot. Bradley não perdeu tempo.
– Senhor Monroe, o senhor Clarence já possui 36% desta instituição. Poderá certificar-se disso se tiver a bondade de examinar estes documentos. Depois que o fizer, sugiro convocar a esta sala seus vice-presidentes. Eles também precisam tomar ciência deste fato.
Edward tomou os documentos em suas mãos, fez menção de examiná-los, mas desistiu. Pelo interfone, pediu à secretária para chamar os vice-presidentes. Passaram à sala de reuniões.
Tão logo chegava, cada executivo era notificado do motivo da presença de Clarence. Quando considerou satisfatório o número de presentes, ele mesmo assumiu o comando.
– Senhores, comunico-lhes que adquiri o controle deste banco.
Ninguém ficou surpreso. Todos sabiam que Clarence e o Banco Centro-Europeu vinham disputando o Manhattan. Julius continuou:
– Eu me interessei por ele há dois meses, não por suas qualidades, mas por seus defeitos. Meus assessores descobriram irregularidades e procedimentos antiéticos na condução dos negócios aqui. Para mim, isso é passado. Se tiverem algo a pagar por tal conduta, será à lei, não a mim. No entanto, advirto: qualquer ato praticado contra os acionistas a partir deste momento os levará imediatamente à justiça. Meus advogados estão aqui para garantir isso. Exijo a convocação de uma assembléia no prazo mínimo previsto em lei. Substituirei todos os senhores.
Se alguém pensou em contestar, não teve tempo. Clarence começou a dar detalhes:
– Ontem à noite comprei, por 75 dólares cada uma, 726 mil ações deste banco. – Bateu com o nó dos dedos na mesa de carvalho. – Tenho agora 35,9% do capital. Continuo comprando a 75. – Olhou então para Ted Monroe. – Isso vale para o senhor e para os outros, caso possuam alguma coisa.
Edward Monroe ficou satisfeito, surpreso e aliviado. Fez as contas mentalmente. Nisso era muito bom, talvez herança do avô, Walter. Receberia 45 milhões de dólares. Poderia levar a vida que sempre desejara, sem outra preocupação a não ser gozá-la, as 24 horas do dia, o ano inteiro.
Os vice-presidentes sentiam-se frustrados. Muitos nutriam esperanças de cair nas graças dos novos donos, até mesmo como delatores, denunciando as velhacarias dos colegas. Mas Clarence fora claro. A carreira deles estava encerrada. Como possuíam participações insignificantes, não podiam compartilhar da alegria de Ted Monroe. Alguns ainda tentaram protestar, mas, aos poucos, se acalmaram, agora mais preocupados em livrar-se da lei.
Naquela segunda-feira, as negociações com as ações do Manhattan haviam sido suspensas pela Comissão de Títulos e Câmbio, a pedido do próprio Clarence, como era exigido pelo Ato Federal de Títulos de 1934 sempre que um fato relevante pudesse alterar substancialmente as cotações. A suspensão duraria até o dia seguinte ao da assembléia geral.
Desde o início da operação detonada por Clarence, mais tarde acompanhada pelo Sindicato, as ações já tinham subido de 10 para 75 dólares, preço pago aos suíços e a Ted Monroe. Agora era preciso impedir, a todo custo, que o papel voltasse a cair.
Todos sabiam que os papéis subiam nos boatos e caíam nos fatos. Era um velho ditado da rua. Mas Julius não podia deixar que isso acontecesse daquela vez. Seria sua ruína. Precisava manter o papel em evidência, procurado pelos especuladores. Resolveu, então, convocar uma entrevista coletiva para anunciar, com estardalhaço, sua compra.
Uma conhecida agência de publicidade da Avenida Madison foi contratada, às pressas, para organizar a coletiva, marcada para as 4h da tarde, a tempo de aparecer nos noticiários do início da noite na televisão.
A TV deu bom destaque à entrevista. Os jornais do dia seguinte foram ainda melhores. Diziam que, com uma boa administração, as ações poderiam valer 200 dólares.
A Assembléia Geral Extraordinária foi marcada para segunda-feira, 4 de agosto, no salão de convenções do New York Hilton.
Os pequenos acionistas se entusiasmaram com a convocação. Mais satisfeitos ainda ficaram os grandes especuladores, pois haviam adquirido muitas ações nas últimas semanas, na onda especulativa provocada por Clarence e pelo Sindicato.
CAPÍTULO 38
O salão de convenções do Hilton encontrava-se lotado para a assembléia extraordinária. Os retardatários de última hora contentavam-se em ficar de pé junto às paredes laterais. Nas filas de cadeiras, dispostas em frente à mesa principal, o burburinho juntava as vozes de pequenos investidores, especuladores, pessoal da imprensa e convidados especiais.
Percebia-se, pelo trajar, a presença de gente de todas as categorias sociais. Mas um único ideal unia todos, pequenos e grandes acionistas, amadores e profissionais de mercado: lucro fácil, da noite para o dia.
À mesa encontravam-se apenas Julius Clarence, Richard Bradley e um procurador de Edward Monroe. Na primeira fila do auditório, em lugares previamente marcados, membros respeitados da comunidade de negócios da Costa Leste, além de dois antigos governadores do Banco da Reserva Federal. Dezenas de jornalistas espalhavam-se pela audiência. As três grandes redes de televisão haviam enviado repórteres e cinegrafistas.
Após a leitura do edital de convocação, Julius Clarence tomou a palavra.
– Senhores acionistas, anuncio a demissão de todos os membros do conselho e da diretoria executiva. Não vou perder tempo em explicar o motivo desta decisão. Todos sabem que o Banco Comercial de Manhattan vem sofrendo um processo contínuo de decadência. Todos acompanharam a queda de suas ações no mercado e a diminuição dos dividendos. Mas, a partir de hoje, desta hora, deste exato minuto, tudo vai mudar. Para começar, anunciarei os novos conselheiros.
Tirou um papel do bolso e começou a ler.
– Martin Beresford, presidente da Garden State Oil, Hugh Bailey, chairman da Light and Energy, Andrew Wilson, chairman da Coast to Coast Cable and Telephone, Steve Yakula, chairman da Pennsylvania Traction, Harrison Banem, chairman da Saint-Mary Life & Insurance, Tray Connoly, ex-governador do Banco da Reserva Federal, e David Stanwyck, tambérn ex-governador da Reserva.
A cada nome citado, todos ilustres e conhecidos, o nomeado se levantava da primeira fila, assinava o livro de posse e sentava-se à mesa principal, sob salva de palmas.
Um murmúrio de satisfação ecoava pelo auditório, soando como música aos ouvidos de Julius. Notou quando alguns repórteres correram para fora, em direção às cabines telefônicas. Satisfeito, prosseguiu:
– Senhoras e senhores, como podem perceber, consegui trazer, para o conselho diretor, os mais representativos membros de nossa comunidade de negócios. Acredito com isso devolver a esta instituição a respeitabilidade da qual seu fundador nunca abriu mão. Ainda em memória de Walter Monroe, decidi manter o nome do Manhattan. Se ele conseguiu atravessar a crise de 1929 e a grande depressão sem causar prejuízos a seus depositantes e acionistas, não haveria de ser eu a fazer tal desrespeito a sua figura.
A audiência continuava manifestando-se favoravelmente. Poucos perceberam um homem, de pé, ao fundo, com a mão direita levantada. Richard Bradley, atento a tudo, avisou Clarence. Este concedeu a palavra ao desconhecido.
– Meu nome é Dean Stevens – proclamou o homem. – Sou advogado e represento Thomas Griffith, até esta data vice-presidente de crédito e proprietário de 200 ações. Na qualidade de seu representante, protesto contra a violação dos estatutos.
A essa afirmação, todos se voltaram para ele. Algumas vaias chegaram a ser ensaiadas. Ignorando a reação do público, o advogado continuou:
– Quando fundou o Comercial de Manhattan, Walter Monroe temeu que seu banco viesse um dia a cair nas mãos de aventureiros. Por isso, fez questão de incluir nos estatutos uma cláusula pela qual todos os vice-presidentes e conselheiros só podem ser indicados por acionistas proprietários de pelo menos 200 ações, compradas há, no mínimo, dois anos. Gostaria de uma verificação para saber se os portadores de mais de 200 títulos aqui presentes os possuem há mais de dois anos. Caso contrário, as decisões de hoje não terão valor legal.
As pessoas se entreolharam no auditório, esperando uma manifestação de algum dos antigos acionistas. Ninguém se apresentou. Os papéis mais antigos haviam sido subscritos por milhares de pequenos investidores nos anos 30. Dificilmente seus herdeiros ali presentes teriam, individualmente, 200 ações. Os títulos vendidos há dois anos tinham sido colocados de porta em porta nos bairros mais modestos da cidade. Nenhum desses compradores poderia cumprir as exigências alegadas pelo advogado. Só recentemente os especuladores e Julius Clarence haviam comprado lotes maiores.
Richard Bradley pegou seu microfone.
– O senhor Stevens tem razão. Realmente, o parágrafo 4.o do artigo 6.o dos estatutos determina essa exigência. Mas o senhor Clarence prefere comentar pessoalmente o assunto.
Julius preparara-se para alguma chantagem de última hora por parte de Griffith, um homem de hábitos dispendiosos, como presentear a mulher com anéis de 25 mil dólares. Sabia que o vice-presidente de crédito possuía 200 ações e poderia tentar vendê-las por um preço altíssimo, à última hora, para permitir a posse dos novos conselheiros. Olhou diretamente para Griffith, sentado ao lado de seu advogado, e falou:
– Senhoras e senhores, se estou aqui hoje, isso se deve a um acionista nas condições imaginadas por Walter Monroe e lembradas agora pelo senhor Stevens. Antoine Yassuf, senegalês de nascimento, a quem tenho a sorte de ter como motorista particular, é um acionista diferente. Muitos compraram seus títulos, há dois anos, só para se livrar dos vendedores insistentes, importunando-os em suas casas. Não foi o caso de Antoine. Ele investiu todas as suas economias. Trata-se de pessoa recatada, detesta exibir-se. Mas ocorreu a mim e a meus advogados a hipótese de alguém exigir o cumprimento do artigo 6.o Convoco, portanto, o senhor Antoine Yassuf a indicar pessoalmente os novos conselheiros e vice-presidentes.
Antoine foi conduzido até a mesa. Lentamente, gaguejando, repetiu os nomes e cargos soprados pela mulher, Bonnie, de pé a seu lado, muito à vontade, orgulhosa do marido.
Nada mais havia de importante. Trataram apenas de formalidades. Clarence fez uma profissão de fé na empresa e encerrou a assembléia. Antes, anunciou sua intenção de comprar qualquer lote restante de ações por 75 dólares. Mas alertou sobre o valor patrimonial de cada uma, em torno de 200 dólares.
Após a reunião, Clarence foi almoçar com Martin. Este, cada vez mais admirado com as façanhas de seu vizinho e amigo, não se conteve.
– Julius, como conseguiu todos aqueles figurões? Tudo bem. Eu sou seu amigo, mas e os outros? Honestamente, não entendo como você os convenceu.
– Não foi difícil, Martin. Mas comecemos por você. Praticamente o obriguei a aceitar. Com seu nome garantido, fui atrás de Tray Connoly, o ex-governador do Banco da Reserva. Segundo apurou Alan Payne, um camarada esperto que trabalha para mim, Connoly está passando por uma fase de aperto financeiro. A mulher está doente, o hospital consome boa parte de sua pensão. Afinal, um conselheiro do Manhattan vai receber 30 mil dólares por ano, apenas para comparecer às reuniões mensais. Com você e Connoly garantidos, não tive problemas com o outro governador, Stanwyck.
– Esses burocratas não ganham muito, eu sei. Mas como conseguiu os outros?
– Foi um pouco mais complicado, Martin, mas não muito. Precisei usar de um pequeno truque. Na visita a Hugh Bailey, da Light and Energy, informei... bem, informei que os outros dois, eu não havia nem entrado em contato com eles, já haviam aceitado a oferta. Fui obrigado a blefar e ele acreditou. Com tanta gente ilustre, não foi difícil convencer os dois últimos, Wilson e Yakula. A essa altura, ser conselheiro do Manhattan era uma questão de prestígio. Martin, meu amigo, fico lhe devendo esta.
– Julius, com esses conselheiros e com toda esta publicidade, o mercado vai abrir amanhã a 100.
– Não sei não, Martin, me disseram que já tem comprador a 120. Ah... já ia me esquecendo. Os conselheiros, de acordo com os estatutos, têm direito a comprar 20 mil ações cada um, a 200 dólares, o valor patrimonial. Esse direito vale por dois anos a contar de hoje.
No dia seguinte, Clarence deu folga a Antoine. Guiou seu novo Aston Martin DB6, igualzinho ao do agente 007 em Goldfinger, até Manhattan.
Todos o esperavam no luxuoso gabinete de Edward Monroe no Comercial. Em vez disso, dirigiu-se à Clarence & Associados, tomou seu lugar à mesa de operações, em frente a Davish, e agitou os operadores.
– Acabaram-se as férias, pessoal. Estou de volta ao mercado. Como abriu a bolsa? Meninos, precisamos ganhar dinheiro.
Naquele dia, as ações do Manhattan abriram no mercado de balcão a 123. Só voltaram a ser negociadas abaixo desse nível cinco anos depois, quando todo o mercado se voltou contra Julius Clarence.
CAPÍTULO 39
Sandra Kleiber deixou Düsseldorf ainda de madrugada. Era o mês de agosto. O sol de verão surgiu bem cedo, mas já a encontrou dirigindo velozmente pela autobahn. Rumou para sudeste, seguindo o vale do Reno.
Noventa minutos depois, em Wiesbaden, abandonou o rio, que aí desvia seu curso para sudoeste, e manteve-se na rota inicial, passando por Frankfurt, na direção de Nuremberg. De lá, prosseguiu até Regensburg, onde parou para uma refeição ligeira. Tomou então o vale do Danúbio, sempre na mesma direção. Passou ao sul da floresta da Boêmia e atravessou a fronteira em Passau.
Já na Áustria, ainda seguindo o Danúbio, rumou para Linz, onde virou para o norte, como se fosse para a Tchecoslováquia. Subindo as montanhas, conduziu o Opel branco até Freistadt. Prosseguiu, então, devagar, examinando um mapa rodoviário aberto sobre a coxa. Dobrou à direita, em uma estrada secundária, e colocou o odômetro do carro na marca zero. Passou a dirigir em baixa velocidade, prestando atenção ao instrumento. Quando atingiu a marca de 3 quilômetros, parou no acostamento, os pneus do lado direito derrapando no cascalho ao lado da pista.
Sandra olhou o relógio. Estava adiantada 40 minutos. Reclinou o banco do carro. Um agradável aroma silvestre penetrou em suas narinas. Começou a indagar-se do motivo do chamado que a levara até ali. Mais um pouco, saberia tudo.
Trabalhava há quase 20 anos para os árabes. Sua pequena e eficiente organização levantava informações e dados que pudessem vir a ser importantes para os interesses petrolíferos sauditas.
A primeira concessão para exploração de petróleo na península Arábica fora assinada, em 1933, entre o rei lbn Saud e a Standard Oil da Califórnia. Mais tarde, essa concessão fora cedida à Aramco. Depois da Segunda Guerra, o engenheiro Jean Paul Getty, proprietário da Aminoil, conseguiu outra concessão e encontrou as maiores reservas petrolíferas da Terra, também na Arábia.
Desde 1950, os lucros líquidos vinham sendo divididos, meio a meio, entre o reino e as concessionárias. Poderia ser um bom negócio para os árabes, mas não era. Na apuração das despesas de exploração, as empresas prejudicavam os sauditas.
O escritório de Sandra dedicava-se a coletar informações sobre as companhias petrolíferas, conhecidas, em seu conjunto, como As Sete Irmãs. Todos os atos prejudiciais aos árabes eram levantados em Düsseldorf e enviados a eles. O contato de Sandra era Abdul al-Kabar. Só a ele prestava contas.
Quem ouvisse sua voz suave ao telefone não poderia imaginar tratar-se de pessoa de grande experiência, mais de 50 anos de idade, 25 de profissão.
Estivera envolvida com informações a maior parte de sua vida. Em seu primeiro trabalho, assessorara o coronel Von Stauffenberg na Operação Valquíria, destinada a matar Adolf Hitler, por intermédio de uma bomba colocada no quartel-general de Rastemburgo, na Floresta Negra, em julho de 1944.
Hitler escapara milagrosamente à explosão do artefato. O coronel foi executado, no mesmo dia, em Berlim, por seus próprios cúmplices, temerosos de que viesse a falar sob o efeito de torturas. Como a participação de Sandra era do conhecimento apenas do próprio Stauffenberg, ela escapou da grande repressão levada a cabo pela Gestapo após o atentado.
Mais tarde, ainda durante a guerra, trabalhara com o conde Folke Bernadotte, presidente da Cruz Vermelha sueca, em suas tentativas de negociar a rendição dos alemães, para evitar o massacre da população civil, submetida aos horrores dos bombardeios.
Após a guerra, Sandra serviu às forças de ocupação, coletando informações para os promotores no julgamento de Nuremberg. Mais tarde, voltou a trabalhar com Bernadotte, nas negociações entre árabes e judeus, para implantação do estado de Israel.
Quando o conde foi assassinado por fanáticos sionistas, em setembro de 1948, a agente foi contratada pelos árabes, que conhecera durante as negociações. Servia-os desde então, agora sob o comando de Al-Kabar.
Pelo retrovisor, Sandra viu o BMW cinzento aproximar-se e estacionar na sua traseira. Um homem moreno, elegantemente trajado, saltou do carro e dirigiu-se ao Opel.
Abdul al-Kabar disse alguma coisa e regressou para o seu carro.
Quando o BMW voltou a se movimentar, Sandra o seguiu. Algumas centenas de metros à frente, estacionaram em uma área de piqueniques. Abdul retornou ao carro de Sandra, carregando uma pasta. Desta vez, entrou no Opel e sentou-se ao lado da alemã. Disse logo a que vinha.
– Precisaremos interromper suas atividades por algum tempo. Por isso, chamei você para esta conversa. A compra do banco em Nova York era um negócio grande, foi preciso fornecer seu telefone a Julius Clarence. Ele, por sua vez, acabou precisando dar seu número a seu chefe de informações.
Sandra não questionou nada. Limitou-se a ouvir. Al-Kabar, então, determinou:
– Desative o escritório. Dispense o pessoal, entregue as salas, encerre tudo. As coisas estão calmas. Tire um ano de férias. Aproveite seu tempo em algo diferente.
O árabe apontou a pasta em seu colo.
– Aqui tem o dinheiro para tudo. Pague a todos e tire 25 mil dólares para você. Se sobrar alguma coisa, deposite na conta de sempre. Tenha umas boas férias. Daqui a um ano, telefone para mim em Viena.
Sandra refletiu. Aproveitaria bem, tanto o tempo quanto o dinheiro. Tão logo tomasse as providências em Düsseldorf, iria para a África. Há muito procurava uma ocasião para realizar um velho sonho. Fotografar animais na savana africana, junto ao Kilimanjaro e ao lago Tanganica. Se trabalhasse rápido, em um mês estaria lá.
Abdul quebrou o silêncio.
– Foi difícil o trabalho com o Centro-Europeu?
A alemã falou pela primeira vez.
– Não, não foi. Consegui a colaboração de um português da equipe de limpeza do banco em Lausanne. Ele instalou um gravador na sala do presidente, René Russon. Em algum momento, o senhor Russon comunicou a seu homem de inteligência, o nome é Otto Behr, que não poderia ficar com o banco americano. Mas só recebi a fita domingo, no final da tarde. O senhor Payne aguardava meu chamado em um hotel, perto de Paris. Liguei para ele e passei a informação. Espero ter sido útil.
Os dois conversaram por mais alguns minutos. Abdul voltou a seu carro e regressou a Viena. Ela dormiu em Linz. Só viajou a Düsseldorf no dia seguinte.
Nunca chegou lá.
Pouco antes da fronteira, um Mercedes preto passou a trafegar na traseira de Sandra, guardando uma distância de 100m. Em seu interior, dois homens esperaram pacientemente o momento adequado, quando nenhum carro, além do Opel branco da agente, se encontrasse em seu campo de visão. O motorista deu, então, uma guinada para a esquerda, calcou fundo o pé no acelerador e emparelhou com o outro veículo.
Quando Sandra percebeu o perigo, era tarde. A última imagem transmitida a seu cérebro mostrou o braço do pistoleiro para fora do carro e a arma apontada em sua direção. O projétil 9mm, com gotas de mercúrio incrustadas no interior, penetrou em sua têmpora esquerda e perfurou a parede lateral do crânio.
Dentro do cérebro, as partículas de mercúrio espalharam-se em todas as direções, destruindo os tecidos, eliminando qualquer chance de sobrevivência. Os estilhaços saíram pelo outro lado, à altura do pescoço, deixando um grande rombo, por onde escapou quase toda a massa encefálica.
O Opel continuou em trajetória retilínea por mais uma centena de metros. Só então saiu pelo acostamento, atravessou o gramado, atingiu o guard rail e capotou. Parou com as quatro rodas voltadas para cima, ainda girando.
Acionada pela pressão do corpo de Sandra contra o volante, a buzina permaneceu soando, como se protestasse contra o ato violento perpetrado na morna manhã de agosto. Um filete de sangue passou a escorrer do teto do carro, regando o canteiro de flores à margem da autobahn.
CAPÍTULO 40
Wall Street sempre gostara de um guru. Mas nunca tanto como do doutor Vincent Cotten. Seu boletim diário era lido avidamente pelos especuladores, corretores e operadores. Suas conferências, regiamente pagas, eram proferidas em auditórios lotados. Seus livros, best-sellers. O último, Descobrindo a quinta onda, já se encontrava na lista dos mais vendidos há 22 semanas.
Às vezes um pequeno comentário de Cotten invertia a tendência do mercado. A imprensa dava grande destaque a suas entrevistas. Todos seguiam suas recomendações.
Mas nem tudo fora fácil em sua vida. Seu doutorado fora obtido em Biologia Marinha, embora poucos soubessem disso. Seu primeiro livro, sobre a reprodução dos camarões, escrito após anos de pesquisas na costa do Equador, tivera pouca aceitação, mesmo entre os estudiosos do assunto.
Frustrado em sua profissão, o biólogo conseguiu emprego na IGN Investments, tradicional corretora da Filadélfia. Após o período de treinamento, destacaram-no para o departamento de pesquisas. Coube-lhe ajudar na redação da carta semanal, enviada pela empresa a seus clientes.
Começou a desenvolver seu grande talento até então oculto. Seu enorme poder de influenciar as pessoas.
Passou a recomendar compra ou venda de ações aos clientes da IGN. Descobriu, para sua grande surpresa e alegria, que eles seguiam religiosamente essas recomendações. Melhor ainda, quando se mostravam acertadas, os investidores agradeciam-lhe seus lucros na bolsa. Quando erradas, todos se esqueciam rapidamente.
Mas o novo analista errava pouco. Seus estudos limitavam-se a copiar o trabalho dos bons profissionais das outras corretoras. Mudava apenas as palavras, dando-lhes seu toque pessoal. O toque genial do doutor Vincent Cotten. Nisso era inimitável. Nem mesmo os plagiados se davam conta da farsa. Sentiam-se gratificados por suas opiniões coincidirem com as do, agora famoso, analista.
Com a chegada da fama, o ex-biólogo mudou-se para Nova York. Fundou sua própria empresa de consultoria. Passou a editar o boletim diário In the Street. Escreveu seu primeiro livro sobre o mercado de ações, um sucesso. Deixou crescer os cabelos, passando a prendê-los atrás, à moda das coletas dos toureiros. Era chamado a dar palpites sobre tudo, esportes, política, artes. Conseguiu mesmo vender algumas telas, embora ninguém o visse pintá-las.
Mas o grande sucesso de Cotten eram as conferências que proferia. Costumava iniciá-las pedindo a dezenas de pessoas do auditório que se levantassem e declarassem seus nomes. Depois, enquanto fazia seu discurso, o conferencista dirigia-se a elas pelos nomes, para espanto e admiração da platéia.
Com seus artigos, fazia a prosperidade de algumas empresas e a desgraça de outras. Quando indicava um papel, todos o compravam. Seu preço então subia. Quando mandava vender, todos vendiam; o preço desabava. Com isso, suas profecias realizavam-se automaticamente. Passou a dar palpites sobre as taxas de juros, elevando ou derrubando os preços das obrigações do Tesouro.
O grande guru estaria fadado à glória total, não houvesse prejudicado Julius Clarence.
O chefe do Departamento de Pesquisas da Associados, Mark Scott, fizera um estudo completo sobre a cadeia de lojas de varejo Bars. Os dados obtidos revelaram um enorme potencial de crescimento da empresa. As lojas, até então em número de 60, limitadas à Nova Inglaterra, seriam estendidas a todos os estados, sob o sistema de franquia. A meta final seria um total de 140 novas lojas em cinco anos.
Mark Scott indicou aos clientes da corretora a compra de ações da Bars, então cotadas em 35 dólares. Coerentes com ele, os fundos administrados pela Clarence compraram grandes lotes. Foi quando Cotten recomendou no In the Street a venda da Bars, a mercado, e as ações despencaram para 27.
Ao recomendar a venda, Cotten baseou-se em um raciocínio simplista. Simplista e estúpido. A única razão da indicação foi o fato de as ações estarem em seu maior preço em todos os tempos. Ignorou o fato relevante de a cadeia de lojas da Nova Inglaterra estar se preparando para um grande salto, estendendo suas vendas a todo o país. Mas agora, com as ações em 27 dólares, já poderia jactar-se do acerto de mais uma previsão.
O mal estava feito. Julius Clarence, na época ocupado com o projeto de instalação da nova sede da Associados, no 80º andar da Liberty Tower, junto ao Battery Park, convocou imediatamente uma reunião com Mark, Bernard e Alan Payne.
Scott exibiu seu estudo e suas conclusões. Mostrou por que indicara o papel. Explicou também a razão da queda. Uma recomendação desprovida de lógica do In the Street.
Clarence ordenou a manutenção dos títulos em carteira e pediu tempo para pensar. Para estudar pessoalmente o assunto, viajou no dia seguinte, bem cedo, para Boston.
David Lowell, chairman da Bars, deu a Julius calorosa acolhida em seu escritório, de onde se podia apreciar uma vista panorâmica da baía de Massachusetts.
Estava desolado. Após tanto trabalho para colocar ações novas, visando à ampliação da rede de lojas, aparecia um idiota inconseqüente e derrubava as cotações, baseado em nada. Nenhum argumento para justificar sua opinião.
Os dois empresários conversaram por várias horas. Clarence conheceu a história do grupo desde a loja pioneira, junto ao porto. Jantou na casa de David, em companhia dos outros dois irmãos, sócios do negócio. Formou uma opinião favorável à família e à empresa. Pegou um vôo tardio para Nova York, disposto a mudar o quadro desfavorável criado pela irresponsabilidade de Vincent Cotten.
No dia seguinte, Julius mandou Scott continuar recomendando a Bars aos clientes da Associados e determinou que Bernard defendesse o papel na bolsa. Depois, chamou Alan Payne.
Conspiraram juntos por longo tempo.
CAPÍTULO 41
Na festa dos MacMurrays, tudo era caro e chique. Uma longa fila de carros e limusines, dirigidos por motoristas uniformizados, tornava lento o trânsito naquele trecho da Park Avenue e despejava gente bem vestida à entrada do prédio.
Lá dentro, no apartamento, pessoas da moda, financistas, políticos, artistas e jornalistas exibiam sorrisos vitoriosos; mulheres magras usavam vestidos curtíssimos, de preferência negros, realçando as jóias. As louças, os cristais, os talheres de prata inglesa, os copeiros – tudo irrepreensível.
Círculos se formavam em torno dos convidados mais ilustres. Um desses grupos tinha como centro Vincent Cotten. Era sempre assim nas festas a que comparecia. Todos o assediavam, querendo passar algum tempo em sua companhia, na esperança de uma palavra, de um palpite do gênio de Wall Street, que os levasse a ganhar mais alguns milhares de dólares num lance afortunado da bolsa.
O guru, satisfeito por despertar tanta atenção, divertia prazerosamente os convivas, contando-lhes as últimas novidades do mundo das finanças e as indiscrições da gente que o povoava.
Mesmo cercado de fãs, Cotten não perdia de vista uma jovem loura, corpo bem-feito, sorriso sedutor, ali bem perto, num grupo composto, em sua maioria, por homens.
A cada movimento da moça, uma folga providencial em seu vestido permitia ao guru divisar um dos seios, firme e rosado. Mudou várias vezes de posição, à procura de melhores ângulos. Mas não resistiu por muito tempo. Desvencilhou-se dos admiradores e caminhou em direção a ela.
– Estou certo de que me conhece, senhorita...
– Moore, Emily Moore. Hum... me dê um tempo. Ah, sim! Hollywood. O senhor é ator em Hollywood. Comediante.
Cotten sentiu o golpe, mas não se deu por vencido.
– Senhorita Moore... Emily... faço previsões para a bolsa de valores. Você é a única pessoa nesta festa que não me conhece. Aposto isso. Mas não será por muito tempo.
O badaladíssimo guru, recém-divorciado, não saiu mais do lado da loura. Ao final da festa, conseguiu atraí-la para seu apartamento, a uma quadra dali.
Cotten não era propriamente um atleta sexual. Isso não impedia que, usando seu prestígio, assediasse constantemente o sexo oposto, sendo esta a principal causa de seu divórcio. Gostava mais de mulheres casadas, uma predileção antiga. Mas nada tinha contra divorciadas e solteiras.
Como a maioria dos homens, gostava das emoções do primeiro encontro, cada detalhe uma novidade. Só não estava preparado para aquela loura caída do céu.
Deitado de costas, o guru fazia as contas da noite. Por três vezes, fora levado ao orgasmo por Emily.
Ergueu a cabeça e olhou em direção ao banheiro. O boxe transparente permitia divisá-la sob o chuveiro. Foi até lá e trouxe-a novamente para a cama, coberta de espuma. Mais uma vez, chegou ao clímax. Por fim, adormeceu, exausto.
Quando acordou, passava das 10h. Emily preparara seu café da manhã. Agora ela o servia, ali mesmo na cama, vestindo apenas um roupão dele, que teimava em permanecer entreaberto, revelando o corpo jovem e bem proporcionado.
Vincent não tinha mais dúvidas. Só podia ser uma garota de programa, havia de tudo nas festas dos MacMurrays. Certamente, a noite lhe custaria dinheiro, mas, mesmo assim, sentia-se recompensado.
Talvez ela fosse um caso de Norman. Dizia-se que ele e Julianne eram um casal liberado. Quem sabe os três? A fantasia o excitava. Com naturalidade, levantou-se, foi até a escrivaninha, pegou um talão e preencheu um cheque de 150 dólares. Achou pouco, rasgou, fez outro, de 200. Não, definitivamente não iria perdê-la por causa de algo tão insignificante como dinheiro.
A indignação de Emily surpreendeu-o. A moça rasgou o cheque. Tirou o robe, revelando mais uma vez o corpo esplendoroso. Vestiu apressadamente o vestido de noite. Já ia se retirando quando o doutor Vincent, refeito da surpresa, cortou-lhe a passagem.
– Desculpe-me, Emily. Desculpe, por favor. Eu não queria perdê-la. Por isso fiz essa bobagem. Me desculpe. Não vá embora. Deixe-me ao menos explicar.
– Explicar o quê? Você é igual a todos os homens. Pensam que tudo é apenas uma questão de preencher um cheque. Só por curiosidade, doutor Vincent Cotten, não é assim que chamavam você na festa? Que critério usa para pagar suas mulheres? O número de orgasmos? Nesse caso, os 200 dólares foram razoáveis...
– Pare com isso, Emily. Me desculpe, pelo amor de Deus. Cometi um terrível engano. Não imaginei que uma mulher como você, isto é, bonita e nova como você, pudesse interessar-se por um homem como eu. Fui estúpido, grosseiro. Deixe-me levá-la em casa. Por favor!
– Vincent, não sou uma prostituta. Sempre trabalhei como modelo. Agora me formei, trabalho, sou contadora. Quero ter uma profissão segura, fazer uma carreira. Conhecer pessoas respeitáveis, como você, isto é, pelo menos eu pensava.
Vincent Cotten levou-a para casa. Suplicou por um novo encontro. Ela relutou, mas acabou cedendo. Passaram a sair juntos, comparecendo a festas, teatros e restaurantes. Faziam também sexo, muito sexo.
Ela, eventualmente, falava de seu emprego nas lojas Bars. Vincent passou a ser um insider. A namorada o informou que a empresa estava em situação financeira precária. Ele congratulou-se por ter sido o primeiro a recomendar a venda dos papéis.
Se as lojas viessem a falir, seu prestígio aumentaria tremendamente. Emily perderia seu emprego, mas não teria importância. Cotten pensava convidá-la para trabalhar em seu escritório. Como contadora, poderia ajudá-lo a analisar balanços de empresas para o In the Street. Embora ninguém soubesse disso, ele não entendia absolutamente nada de contabilidade.
Certa noite, Vincent encontrou-a deprimida. Ela lera um relatório confidencial da matriz, em Boston. Um memorando do contador-chefe para a diretoria da Bars.
Mostrou a Cotten uma cópia. O negócio deteriorava-se rapidamente. As vendas haviam caído 30%. Várias lojas seriam desativadas. E, pior, a qualquer momento, os credores poderiam requerer a falência da Bars.
Cotten consolou Emily. Disse-lhe para esquecer seu emprego. Convidou-a para trabalhar no In the Street. Começaria na semana seguinte. O salário, 400 dólares por semana, quase o dobro do que ganhava na loja.
Ela o levou à loucura naquela noite, fazendo-o sentir-se de volta aos 18 anos.
Irresponsavelmente, o doutor Cotten não se deu ao trabalho de verificar a autenticidade do documento nem de procurar a diretoria da Bars para uma declaração, como é de praxe na imprensa. Recomendou a seus assinantes a venda, a descoberto, da Bars, isto é, que os investidores vendessem papéis, mesmo não os possuindo, para recomprá-los mais tarde quando o preço estivesse mais baixo, uma operação arriscada, pois os títulos já vinham de uma queda considerável.
Seguindo as recomendações de seu infalível guru, toda a Wall Street dedicou-se à excitante tarefa de demolir a reputação de uma empresa, mais uma vez deliciando-se com a possibilidade do lucro fácil. A Bars despencou para 18 dólares. Só não caiu mais porque a Clarence & Associados comprou pesadamente.
No dia seguinte o comunicado publicado no Wall Street Journal deixou pouca margem a dúvidas. Um consórcio de bancos anunciava um empréstimo de 100 milhões de dólares à cadeia de lojas Bars, para execução de ambicioso plano de expansão elevando o número de lojas de 60 para 200, sob o sistema de franchise.
Um parecer dos conceituados auditores Mermann & Greensberg estimava em 50 dólares o valor contábil das ações da empresa. No mesmo jornal, a Bars anunciava um dividendo: 5 dólares por ação.
O mercado abriu indeciso. Não sabia se acreditava no guru ou nos bancos. Prevaleceu o bom senso. Os papéis abriram a 21 e subiram durante toda a sessão. Fecharam a 37, uma das maiores altas em um só dia na Bolsa de Valores de Nova York. Ao mesmo tempo, caíram todas as ações recomendadas pelo In the Street. Aquele dia ficou conhecido, para sempre, como “A Reversão de Vincent Cotten”.
Julius chamou seu pessoal para uma comemoração. Mas, quando Mark Scott, Bernard Davish e Alan Payne chegaram à sala do patrão, Clarence já não estava. Um telefonema de Abdul al-Kabar causara a saída repentina.
Coube à secretária Diane receber, mais tarde, ainda naquele dia, o telefonema do xerife do condado de Stanford comunicando a prisão de Francine Kéraudy Clarence por dirigir embriagada.
CAPÍTULO 42
Clarence fora colhido de surpresa pelo telefonema de Abdul. Dispensou Antoine e tomou um táxi. Meia hora depois, entrava na suíte de Al-Kabar no Waldorf. Abraçaram-se afetuosamente. Não se viam há dois anos e meio. Achou o amigo um pouco mais velho. Como se adivinhasse o pensamento de Julius, o árabe comentou:
– O tempo passa, amigo. É irreversível.
– Você está bem, Abdul. Mas a que devo o prazer? Aconteceu alguma coisa? Estou curioso, confesso.
– Sandra, a informante de Düsseldorf. Foi assassinada na Áustria. Quando voltava para casa após um encontro comigo. Um tiro na cabeça, enquanto dirigia. Trabalho de profissionais.
Clarence pensou imediatamente no Centro-Europeu. Franziu o cenho.
– Você sabe o motivo? Quem a matou? Por quê? Essas coisas.
Al-Kabar negou com a cabeça.
– Os assassinos não deixaram pistas. Talvez o crime esteja relacionado com o Banco Centro-Europeu, um grupo misterioso, conhecido como Sindicato. Você deve saber disso. Mas o motivo pode ser alguma coisa acontecida em outra época. Creio que não saberemos nunca. Sandra já investigou grupos e pessoas muito poderosos. Fez isso a vida toda. Mas eu precisava vir a Nova York e quis alertá-lo pessoalmente. Sejam ou não aqueles suíços os mandantes do crime, é bom tomar cuidado com eles.
Abdul e Clarence conversaram por várias horas. Jantaram na suíte. Já passava da meia-noite quando se despediram.
Como era tarde, e estava sem carro, Julius decidiu pernoitar em Manhattan. Foi para a cobertura e lá encontrou um recado urgente de Martin. Ligou para ele e, só então, soube da prisão de Francine.
Felizmente o amigo já providenciara um advogado. Sua mulher já se encontrava a caminho de casa, liberada sob fiança.
Clarence foi imediatamente a seu encontro, mas a poupou de um sermão. Ele também já dirigira embriagado, diversas vezes, embora nunca no meio da tarde, muito menos em um dia de semana. Sorte nunca ter sido flagrado pelos tiras.
Sentiu-se culpado, não vinha dando a merecida atenção ao casamento. Sua mulher bebia acima do normal, só agora o percebia. Mas deixaria o assunto para ser discutido outro dia.
Algumas semanas depois, Francine foi julgada. Sua licença de motorista foi suspensa por seis meses. Pagou também uma multa de 200 dólares. O assunto foi esquecido. Julius passou a dedicar-se mais a ela.
A Associados e seus fundos, tendo investido muito dinheiro em ações da cadeia Bars, haviam se tornado proprietários de 20% da empresa.
Para os Lowells, donos das lojas, ter um sócio de fora da família era uma experiência nova. Visando a um melhor conhecimento de Julius, convidaram o casal Clarence para um cruzeiro pelo Caribe no veleiro da família.
Foi a coisa mais divertida que Clarence fez em sua vida.
Os irmãos Lowells, David, o mais velho, George e Andrew, o caçula, não se limitavam a possuir um veleiro. O nome da família era lendário no iatismo. Por duas vezes haviam vencido a America’s Cup. Além de barcos de competição, possuíam a Innamorata, uma escuna de 60 pés e quatro velas.
Em seus cruzeiros de recreio, costumavam levar, além das mulheres, apenas dois marinheiros profissionais e um cozinheiro. Os filhos de David e George, ainda pequenos, ficavam em casa. Andrew era recém-casado, não possuindo filhos.
Convidar Clarence e Francine para um cruzeiro na Innamorata foi um sólido gesto de amizade dos Lowells, reconhecido e apreciado por Julius.
O casal Clarence encontrou-se com os Lowells em Miami. De lá, seguiram para Key West, onde embarcaram na escuna para a primeira noite a bordo, ainda fundeados no porto. No dia seguinte zarparam ao nascer do sol.
Durante 15 dias dedicaram-se à arte de velejar – apenas os Lowells, pois Julius e Francine preocupavam-se apenas em se divertir. Os quatro casais riram, cantaram e dançaram, além de gozar os prazeres proporcionados por um excelente cozinheiro e uma adega requintada.
Na Innamorata não havia luxo, mas tudo era confortável e funcional. Julius e Francine ocuparam a cabine principal, à proa da embarcação. Os irmãos se acomodaram com suas mulheres em três pequenos camarotes. Quanto aos tripulantes, só eram visíveis quando necessários.
Saindo de Key West, cruzaram o golfo do México até Puerto Juárez. De lá, velejaram para Georgetown, na Grand Cayman, e, depois, para Montego Bay, na Jamaica. Sempre contornando a ilha de Cuba, rumaram para Great Inagua, nas Índias Ocidentais, e, já retornando à Flórida, pararam em Nassau, nas Bahamas. Entre esses portos conhecidos, o veleiro ancorava em diversas ilhas e praias fora do alcance dos cruzeiros comerciais.
Julius e Francine sentiram-se à vontade com os Lowells, como se há muito fizessem parte da família. Nos dois primeiros dias, Francine enjoou um pouco. O mar colaborando, aos poucos acostumou-se ao ritmo suave da subida e descida do veleiro cortando as ondas; o golfo do México e o mar do Caribe haviam se transformado em um grande lago, como que se rendendo ao encanto de tão agradáveis velejadores.
Uma brisa suave garantia a propulsão. Eventualmente, o céu escurecia e uma pancada de chuva varria o convés.
David, o mais velho, capitaneava o barco. George e Andrew revezavam-se na navegação. Stella, mulher de David, uma loura bostoniana, alta e de olhos azuis, se equivalia aos irmãos no conhecimento da arte de navegar. Stephanie, morena, olhos verdes, casada com George, cuidava da comissaria, embora Wu, o cozinheiro chinês, raramente necessitasse de assistência.
Havia ainda Jessica, 19 anos, morena, casada com Andrew. A caçula das seis filhas de um próspero fazendeiro do Illinois, criada em liberdade, sentia-se bem ao ar livre, fosse em terra, fosse no mar. Seu talento ao violão, sua voz agradável e seu repertório rico em canções e baladas enchiam a noite de sons. Era um prazer conviver com Jessica.
Julius comportava-se como um velho marujo. Gostava de sentar-se à proa, subindo e descendo com as ondas, vendo saltar os peixes-voadores à aproximação do veleiro. Recebendo no rosto os respingos do oceano, descansava e meditava.
Em toda a viagem, apenas uma vez foi vencido pela curiosidade e tentou informar-se sobre as cotações da bolsa.
A escuna encontrava-se fundeada em uma pequena enseada em Long Island, ao sul das Bahamas. Os quatro casais aproveitavam a calmaria e a limpidez das águas para mergulhar e admirar os peixes e corais, abundantes no local. Wu e os marinheiros haviam seguido em um escaler até a ilha para comprar frutas.
Julius, sorrateiramente, nadou até o barco e, pelo rádio, usando os préstimos de um radioamador, conseguiu contatar Bernard na sede da Associados. Com isso, quebrou o pacto solene, estabelecido por todos na primeira noite, de se desligarem dos negócios durante o cruzeiro.
Já terminava a conversa com Davish quando foi surpreendido por Andrew.
Apesar das súplicas, Clarence, em julgamento solene, foi condenado a beber 10 doses de rum. A ressaca fê-lo lembrar-se de seguir à risca os mandamentos da embarcação. Ficou também estabelecido por seus algozes que, em caso de reincidência, seria condenado à pena máxima, a prancha, tal como os antigos corsários.
Julius, a partir daí, esqueceu-se do mercado. Passou a curtir exclusivamente a viagem. Diariamente, após o jantar, os Lowells e os Clarences se divertiam, dançando e deliciando-se com os coquetéis multicores de Stephanie, à base de rum e frutas tropicais. Mais tarde, já embalados pela bebida, reclinavam-se nas almofadas do barco. A voz suave de Jessica invadia, então, a cabine. Só depois se recolhiam.
À chegada em Key West foram chamados à realidade de seus cotidianos. Foi um grupo mal-humorado que se dirigiu a Miami, depois a Nova York e Boston, respectivamente.
Francine retomou seus estudos de Arquitetura, interrompidos por ocasião de seu casamento. Matriculou-se na Columbia University e, cumprindo promessa feita a si mesma, parou de beber. Por 18 longos meses.
CAPÍTULO 43
Francine Kéraudy Clarence tinha apenas 24 anos quando tomou consciência de que era uma alcoólatra. Não costumava ficar bêbada e, com exceção do dia de sua prisão, nunca provocara situações constrangedoras para si ou para o marido. Mas bebia sistematicamente, todos os dias, geralmente vinho ou champanhe.
Após a viagem pelo Caribe, decidiu abandonar o álcool, resolutamente. No início, sofreu com a abstinência, mas, com grande força de vontade, conseguiu superar os primeiros meses.
Depois do cruzeiro, os Lowells se juntaram ao restrito círculo de amizades dos Clarences, formado basicamente pelos Beresfords, Martin, Lora e as meninas, e por Bernard Davish e sua noiva, Lisa. Algumas vezes, Claire Kellegher, agora casada com um diretor da Broadway, conseguia espaço em sua agenda e aderia ao grupo.
Jessica levou Francine a visitar a fazenda de seus pais em Illinois, não muito longe de Davenport. Lá, ela conheceu as cinco irmãs da amiga americana, seus maridos e filhos.
A algazarra permanente da fazenda levou a francesa a recordar-se tristemente de sua infância e adolescência na mansão do pai, em Toulouse. Sentiu-se deprimida em meio a tanta alegria.
Julius ampliara sua participação na Bars. Sem subterfúgios, comprando ações no mercado e dos próprios Lowells. Não demorou a perceber que a aspiração maior dos irmãos era dedicar-se a sua verdadeira paixão: veleiros e regatas.
Com a entrada de Clarence na sociedade, os Lowells sentiram-se livres para participar, com maior freqüência, de competições ao redor do mundo. Passaram a viajar os três ao mesmo tempo, deixando a Julius e sua equipe a responsabilidade pela condução e expansão da empresa.
Naquele ano de 1970, Bernard Davish, agora o segundo homem de Clarence também no Comercial de Manhattan e na cadeia Bars, casou-se com Lisa.
O casamento foi um grande acontecimento social. Clarence e Francine, padrinhos do noivo, ofereceram a mansão de Greenwich para a recepção.
Além de seus puros-sangues do tempo de solteira, Francine administrava o Mississippi Saylor. Inscrevia-o em páreos importantes, adequados a seu estilo de correr. Constantemente, visitava o Saint Joseph, em Glensboro.
Nessas viagens ao Kentucky, escolhia cuidadosamente um local para o futuro haras dos Clarences, um projeto secreto do qual só Jessica, agora uma visitante freqüente de Greenwich, tomara conhecimento.
Andrew viajava constantemente – negócios e competições. Então, Jessica, fugindo à casa solitária e silenciosa, vinha para junto dos novos amigos.
Julius gostava de vê-la por perto. Era diferente da maioria das mulheres que conhecia. Muito jovem ainda, gostava de esportes. Era uma companheira divertida, mas sentia grande interesse pela política e pelos acontecimentos mundiais.
À noite, depois do jantar, se Clarence não estivesse ocupado com seus terminais e computadores, Jessica costumava interrogá-lo sobre seus negócios. Pedia-lhe a opinião sobre o que lera nos jornais. Em outras ocasiões simplesmente tocava violão, que nunca deixava de trazer. Às vezes, Julius e Francine juntavam suas vozes à dela. Mas cantavam tão mal que acabavam rindo os três.
Aconselhada por Martin, Francine inscreveu Mississippi Saylor no Kentucky Derby. A corrida realizou-se no sábado, dia 2 de maio. Duas semanas antes ela viajou para Louisville; assistiu aos treinos e cuidou para que nada faltasse ao garanhão. Alguns dias antes da corrida, Martin foi juntar-se a ela.
Julius só viajou para o Kentucky na sexta-feira, véspera do páreo. Fê-lo em grande estilo, levando os irmãos Lowells, suas mulheres e filhos e os Davishs, recém-chegados da lua-de-mel. O grupo alegre e barulhento ocupou seus lugares nas tribunas de Churchill Downs. Ninguém admitia sequer a hipótese de um segundo lugar.
Mais uma vez, o Mississippi superou as expectativas. Pilotado por Cesar Esposito, percorreu a milha e 1/4 do derby em apenas 1 minuto, 59 segundos e 3 décimos, novo recorde da prova. Essa marca só seria superada pelo fantástico Secretariat, dois anos depois.
Assim Julius levava sua vida. Divertia-se com os amigos, viajava e assistia às corridas. Mas sua grande paixão continuava sendo o mercado. Mantinha o hábito de, nas noites de domingo, recolher-se a seu escritório em Greenwich e analisar as bolsas do Extremo Oriente.
Enquanto Wall Street dormia, ele já comprava e vendia ações, obrigações e mercadorias naquelas bolsas. No dia seguinte, quando os mercados abrissem na Costa Leste, já estaria à frente dos concorrentes.
Operando aos domingos, Clarence travou contato com outros operadores que, como ele, apreciavam o trabalho solitário de fazer negócios no outro lado do mundo. Gente de todos os lugares.
Havia Fernando Rabal, diretor do Banco Obrero da Cidade do México, e Jack West, mercador solitário, negociando de sua cabana isolada nas faldas do monte Hood, no Oregon. Como também Mislav Soudendijk, do Banco Madeireiro da Colúmbia Britânica, que, por causa da enorme diferença de fuso horário, encerrava seu fim de semana logo após o almoço de domingo e corria para seus telefones e terminais de cotações, no último andar da torre do banco, em Vancouver.
Alguns operadores europeus também trabalhavam aos domingos. Precisavam, para isso, chegar a seus escritórios antes da meia-noite. Na Europa, entre outros, Julius falava com Christian Blaeu, dono de uma pequena corretora em Amsterdã, e Jacques Constantine, operador da Casa Rothschild, de Paris. Leander van Deer, da Cidade do Cabo, especialista em ouro, platina e diamantes, com seu vozeirão inconfundível, dispensava identificação.
Nenhum era tão assíduo quanto Clive Maugh, do Centro-Europeu. Este, às vezes, ligava para Greenwich. Mas, desde a morte de Sandra, Julius evitava aproximar-se do Sindicato. Além disso, algo na voz de Maugh passava a Clarence a impressão de que o inglês o odiava. Mas, sendo vantajoso, faria negócios com ele, sem pestanejar.
Nesses domingos, os solitários operadores da América, da Europa e da África juntavam-se aos profissionais do Extremo Oriente, para os quais a semana havia realmente começado.
Nas mesas de Tóquio, Hong Kong, Sidney, Taipé e Cingapura, não era incomum entrar uma ligação do outro lado do planeta, comprando ou vendendo os ativos negociados naqueles mercados. Naquele distante ano de 1970, o mundo começava a ficar pequeno para os mercadores da noite.
Com o início da nova década, Julius passou a investir em ouro. A seu ver, chegara a hora da realização da profecia de Salomon Abramovitch.
Os Estados Unidos mantinham o preço da onça em 35 dólares. Mas, com os gastos militares no Vietnã, o Tesouro americano endividava-se cada vez mais. Dificilmente conseguiria manter estável a relação entre o dólar e o ouro.
Clarence esperava estar do lado certo, no momento em que o preço disparasse. Mas a operação não era tão simples assim. Uma lei de 1933 proibia aos cidadãos americanos a posse de ouro. Para adquirir suas barras, Julius recorria a uma empresa, no Liechtenstein, que constituíra especialmente para esse fim.
CAPÍTULO 44
Otto Behr releu satisfeito a folha de papel em sua mão; o documento custara caro ao banco mas, logo ao primeiro exame, Behr constatou que fizera uma barganha. Com base nas informações contidas no relatório, o Centro-Europeu poderia aumentar, de maneira considerável, o lucro de suas carteiras.
Avisou a secretária para não interrompê-lo para ninguém, à exceção do senhor Russon. Reclinou-se na cadeira e leu, pela terceira vez, a preciosidade. Desta vez devagar, examinando cada palavra do texto, para ver se descobria mais algum detalhe relevante.
Tradução de memorando secreto enviado ao camarada Leonid Ilyich Brezhnev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, pelo chefe do Comitê de Segurança do Estado (conhecido no Ocidente por suas iniciais em russo, KGB), Yuri Vladimirovich Andropov.
De: Yuri Vladimirovich Andropov, Chefe do Comitê de Segurança do Estado.
Para: Leonid Ilyich Brezhnev, Camarada Secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética.
Camarada Secretário-geral,
Tenho em meu poder relatórios obtidos por agentes da mais alta confiança, baseados nos Estados Unidos da América, dando conta de que o presidente Richard Milhous Nixon tomou a decisão de, nos próximos anos, desvalorizar o dólar, passando-o primeiramente dos atuais 1/35 de onça de ouro para 1/38 e, posteriormente, para 1/42.
A decisão do presidente baseia-se no fato de as reservas de ouro dos Estados Unidos, depositadas no Fort Knox, em Hardin County, Kentucky, não mais corresponderem a 1/35 do montante do meio circulante daquele país. Presume-se que essas reservas estejam aquém de 1/38, e mesmo de 1/42, sendo essas duas desvalorizações apenas um primeiro passo para uma liberação total do preço do ouro.
Os gastos militares efetuados por aquele país, em seu ato de agressão ao bravo povo do Vietnã, vêm resultando em forte endividamento do Tesouro americano, provocando, além disso, maciças emissões de dólares, não acompanhadas de um aumento na quantidade de ouro depositada no Fort Knox.
Uma desvalorização do dólar será extremamente benéfica à União Soviética. Visando a tal fim, tomo a liberdade de sugerir ao Camarada Secretário as seguintes providências:
Elevar o auxílio militar ao Vietnã, objetivando, com isso, um aumento nos gastos militares americanos e, portanto, mais emissões de dólares;
Diminuir a venda de ouro da União Soviética no mercado internacional, mesmo sendo necessário reduzir nossas importações de grãos dos Estados Unidos. (As dificuldades a serem impostas ao Heróico Povo Soviético por essa decisão serão amplamente recompensadas quando o ouro se valorizar.)
Lembro ao Camarada Secretário-geral que, em caso de colapso do dólar americano, o Povo Soviético e o Movimento Proletário Internacional serão os grandes beneficiários.
Saudações,
Yuri Vladimirovich Andropov
Chefe do Comitê de Segurança do Estado
Contrariando seus hábitos, Russon presidiria a reunião do Comitê Diretor do Sindicato. Como sempre, Lesneur, de Operações, Behr, da Inteligência, Thayer, da Captação, Monpère, da Administração, e Schneider, da Contabilidade e Controle, sentaram-se à mesa-redonda, agora aguardando a chegada do presidente.
Russon entrou na sala e, com um gesto, mandou que todos permanecessem sentados. Dirigiu-se à única poltrona vaga. Para não perder tempo, inclinou a cabeça na direção de Otto, indicando, com isso, o início dos trabalhos.
O diretor de Inteligência iniciou sua exposição, causa principal da reunião extraordinária:
– A razão pela qual solicitei ao presidente a convocação dos senhores é este relatório à minha frente. Por ser extremamente confidencial, resolvi não tirar uma cópia para cada um, como fazemos habitualmente. Mesmo esta aqui será destruída após a reunião.
Se Behr desejava fazer suspense, conseguiu. Ouviu-se um murmúrio de curiosidade.
– O documento dispensa explicações – continuou ele. – Por isso, vou lê-lo na íntegra.
Leu, então, a cópia do memorando secreto do KGB para Brezhnev.
Após a leitura, antecipando-se a qualquer comentário ou pergunta, apressou-se em esclarecer:
– Imagino que os senhores devam estar se perguntando: “Como um assunto tão secreto pode ter chegado às nossas mãos?” Também tive esta dúvida. E cheguei à seguinte conclusão: o documento é verdadeiro e os soviéticos deixaram uma cópia vazar para as pessoas certas. Pensemos juntos: “Como se comporta uma instituição como a nossa, administrando fortunas tão grandes, como fazemos, ao saber da intenção dos americanos de desvalorizar o dólar contra o ouro?”
Ninguém disse nada.
– A resposta é óbvia – prosseguiu ele. – Comprando o máximo possível, o que irá ajudar os russos, e aguardando a alta dos preços. Mas não me limitei a julgar o motivo dos russos ou a autenticidade do documento. Usei outras fontes de informação e verifiquei coisas interessantes.
Otto olhou para o presidente, depois passeou a vista pelos colegas e, só então, concluiu:
– Os soviéticos pararam de vender ouro e estão racionando suas compras de grãos, como sugere o memorando. Verifiquei também um aumento na freqüência de vôos de transportes militares entre a União Soviética e o Vietnã do Norte. Minha conclusão formal é a seguinte: o documento é verdadeiro, Brezhnev aceitou a sugestão de Andropov e o preço do ouro vai subir muito nos próximos anos, pois os americanos vão desvincular o dólar do ouro.
Os diretores do Sindicato não levaram muito tempo para chegar à mesma conclusão de Otto Behr. A palavra foi, então, passada a Jean Lesneur, diretor de Operações. Jean começou por enaltecer o colega:
– Parabéns, Otto. É fácil administrar carteiras, tendo você como apoio. Meu plano é simples. Convocarei Bruno D’Angelo e Clive Maugh para uma conversa. Direi a eles que nossos clientes estão preocupados com a guerra no Sudeste Asiático e desejam mais segurança em seus investimentos. Determinarei um aumento do percentual de ouro nas carteiras. Mas existe algo melhor que, simplesmente, comprar o metal. Compraremos também ações de empresas mineradoras. Se elas já ganham dinheiro com o ouro a 35 dólares por onça, imaginem o aumento dos lucros se o preço subir. E se for realmente liberado? As ações poderão valorizar-se cinco, 10 vezes, até mais.
No quarto trimestre daquele ano, o Centro-Europeu e Clarence, este através de sua subsidiária no Liechtenstein, compraram grandes quantidades de ouro.
Nessa época, Mark Scott, de Pesquisas, chamou a atenção de Julius para uma alta persistente nas ações das mineradoras.
– Claro, como pude ser tão estúpido! – Julius lamentou-se. – Claro, claro, se o ouro vai subir, elas vão subir mais ainda. E essas nós podemos comprar às claras, nenhuma lei nos impede.
O ouro começou a subir no outono. Anos mais tarde, Julius se recordaria da noite de domingo em que a alta começou.
De seu escritório em Greenwich, tendo percebido o início do movimento, ligou primeiro para Tóquio e Hong Kong. Depois, telefonou para os mercadores noturnos, tentando descobrir se a alta passara despercebida por algum deles.
Mas os homens da noite eram bons profissionais. Todos já haviam farejado a nova presa. Cada um deles, os músculos contraídos, a garganta seca, o coração acelerado, os olhos perscrutando a dança dos números em seus terminais de cotações, sentiu, naquele instante, o início de mais um ciclo no mercado.
Clarence, em Greenwich, Rabal, na Cidade do México, West, em sua cabana no Oregon, Soudendijk, de sua torre pairando sobre o Pacífico, Blaeu, em Amsterdã, Constantine, em Paris, Van Deer, na Cidade do Cabo, e Clive Maugh, em Lausanne, iniciavam mais uma semana de trabalho e de emoções.
Para cada um deles, já há muito, o lucro das operações de mercado representava mais do que riqueza e poder. Era o principal elo com a vida. Para os mercadores da noite, ganhar ou perder dinheiro significava a vitória ou a derrota, em um jogo cruel e interminável.
CAPÍTULO 45
Como quase todo mundo, Clarence tivera seu quinhão de tristezas e dificuldades. Perdera seus pais, a quem dedicava grande afeto, e o amigo Salomon Abramovitch. Nos negócios, enfrentara momentos difíceis quando a Associados, em seus primeiros anos, estivera à beira da falência. Seu casamento com Claire fora breve, mas não deixara traumas. Gozara, em muito maior número, de alegrias, vitórias e sucessos.
Mas, naquele ano de 1971, via-se, pela primeira vez, diante da adversidade. Sua vida pessoal tomava rumos inesperados, escapando a seu controle.
Francine, desde seu casamento, há dois anos, ansiava por um filho. Não fazia uso de anticoncepcionais, mas, para sua consternação, até agora nada acontecera.
Preocupada, procurou seu ginecologista. Este a encaminhou ao doutor Anthony Galligan, conceituado especialista em fertilidade.
Após submetê-la a uma bateria de exames, o médico concluiu: nada havia de errado com ela. Se houvesse algum problema, seria do marido.
Embora, até aquele momento, não sentisse a falta de filhos, Julius concordou com o pedido da mulher e procurou o doutor Galligan. Submeteu-se pacientemente aos testes prescritos pelo médico. O laudo foi concludente. Era, irremediavelmente, estéril.
Como seria de esperar, não gostou do resultado. Mas não ficou inconsolável. Acostumara-se a aceitar os fatos irreversíveis, principalmente quando não eram provocados por alguma decisão errada ou precipitada de sua parte. Nunca teria filhos, sua linha de hereditariedade terminava ali. Lamentável, sem dúvida, mas existiam outras pessoas com quem se preocupar e dividir alegrias e infortúnios. Sua mulher era uma delas.
Francine fingiu não se importar, mas sentiu o golpe. Não tinha irmãos. Julius também era filho único. Portanto, não havia sobrinhos.
E ela adorava crianças. Quando visitavam os Lowells, em Boston, brincava com Roxanne e Rick, filhos de David e Stella, e com Joan, a garotinha de George e Stephanie. Em Greenwich, passava horas com as filhas de Martin e Lora, já adolescentes.
Mas, quando Lisa, logo após seu casamento com Bernard, anunciou estar grávida, Francine recebeu a notícia com uma ponta de ciúme. Um casal de setters, presente de Julius, compensava em parte sua necessidade de afeto, mas simplesmente não era a mesma coisa.
Pouco depois, na primavera de 1971, Francine voltou a beber, desta vez às escondidas.
Clarence soube, acidentalmente.
Deixara-a ainda dormindo e dirigia-se com Antoine a Nova York. No meio do trajeto, lembrou-se de haver esquecido em casa alguns documentos. O motorista deu meia-volta e retornaram para casa.
Julius pegou os papéis no escritório e subiu rapidamente ao quarto, para ver se ela já acordara. Mas, ao entrar no aposento, surpreendeu-a, ainda na cama, com um copo nas mãos. Ela se assustou e deixou o copo cair sobre o tapete.
Ao beijá-la, Clarence sentiu o cheiro da bebida. Ficou chocado. Nunca imaginara a mulher bebendo em jejum. Interpelou-a gentilmente. Francine desabou, então, em um choro convulsivo. Depois, mais calma, revelou ter retirado do bar, na véspera, uma garrafa de vodca para um gole apenas. Estivera muito tensa nos últimos dias. Simplesmente, não resistira à tentação de uma dose para relaxar.
Foi a primeira vez. Depois, vieram outras. Francine passou a embriagar-se com freqüência. Embora não tivessem vida social intensa, os Clarences compareciam a algumas festas. Também recebiam convidados, tanto em Greenwich como na cobertura do parque.
Nessas ocasiões, Francine, de início, mostrava-se tensa e insegura. Depois da primeira dose, transformava-se. Tornava-se alegre e divertida. Na terceira fase, mais tarde, já embriagada, dizia coisas desagradáveis, era agressiva com as pessoas.
Os íntimos se constrangiam. Os outros comentavam. Vez por outra, algum colunista de mexericos insinuava algo sobre a francesa e a bebida.
Jessica, apesar de mais jovem, era a única pessoa a quem Francine escutava. Para ajudar a amiga, deslocava-se de Boston a Greenwich.
Após esses encontros, Francine ficava vários dias sem beber. Voltava a ser a pessoa doce por quem Julius se apaixonara e que tanto cativara seus amigos, vizinhos e empregados. Mas sempre retornava à bebida. Brigava com Teresa e Antoine, a quem Julius proibira de entregar as chaves dos carros à mulher.
Clarence deixou de ir a festas. Mas continuou recebendo amigos em casa. Francine já não importunava tanto. Sua resistência à bebida diminuíra consideravelmente. Após algumas doses, subia para o quarto. Julius continuava atendendo aos convidados. Estes fingiam não perceber a ausência da anfitriã.
Os problemas domésticos não impediam Clarence de continuar conduzindo com eficiência seus negócios. Usava todas as linhas de crédito a seu alcance para alavancar suas compras de ouro e de ações de mineradoras. Como garantia desses empréstimos, entregava as próprias ações adquiridas e as barras de ouro. Estas já formavam um volume considerável em um cofre na Suíça.
Além de acompanhar os mercados, Julius visitava diariamente as obras do novo escritório da Associados, no topo da Liberty Tower, em Downtown.
A nova sede foi inaugurada em setembro, logo após o Dia do Trabalho. O prefeito de Nova York, John Lindsay, cortou a fita cerimonial, e os convidados percorreram as novas instalações.
A corretora ocupou os três andares mais altos da torre. No primeiro ficaram os setores de apoio e um espaçoso auditório. No andar intermediário foi instalada a plataforma de operações, equipada com a última geração de aparelhos de telecomunicação.
A sala de Julius era modesta, comparada às demais dependências. Mas, se os convidados tivessem subido ao último andar, teriam conhecido a luxuosa suíte concebida, por ele mesmo, para seu uso pessoal. Um refúgio para trabalhar à noite, quando preciso. Também um local discreto para receber convidados mais exclusivos.
Da suíte, um elevador privativo descia direto à garagem, no subsolo.
O problema de Francine se agravara. Não obstante, ela amava Clarence e queria ardentemente preservar seu casamento. Freqüentava regularmente um psiquiatra. Aos períodos de embriaguez seguiam-se vários dias de sobriedade. Num desses, encheu-se de coragem e procurou os Alcoólicos Anônimos. Ocupou uma cadeira na última fila; quando o coordenador da reunião lhe perguntou se desejava dizer alguma coisa, intimidada, afastou-se correndo.
Naquela noite, ao chegar em casa, Clarence encontrou-a caída sobre o tapete da biblioteca.
A partir de então, Francine desistiu de lutar. Sua fala tornou-se lenta, a conversa confusa, mesmo no intervalo entre as bebedeiras, como acontece aos alcoólatras. Permanecia calada por muito tempo, mas, quando falava, repetia as frases inúmeras vezes. Esquecia-se freqüentemente das coisas mais simples.
Francine Kéraudy Clarence era apenas uma sombra do que fora. Descuidada da própria aparência, magra, os olhos vermelhos. Nem pelos cavalos se interessava mais.
A bebida da casa foi retirada, inutilmente. Ela solicitava um táxi por telefone. Depois de algumas horas, retornava embriagada.
Julius sentia-se impotente para lidar com a situação.
Sugeriu à mulher passar algum tempo com o pai, em Toulouse, ou com Bernadette, em Paris. Ela recusou. Como também não aceitou um convite de Jessica para viajar para a fazenda, em Illinois. Clarence chamou Irene Kéraudy para fazer companhia à filha. Francine ignorou a presença da mãe.
Alguma coisa, talvez há muitos anos, machucara Francine. Ela simplesmente se recusava a ser feliz. Com Jessica ainda se tornava dócil. Reclinava-se no ombro da amiga e chorava.
Julius avistava-se freqüentemente com o psiquiatra da mulher, doutor Rebaj, especializado no tratamento de alcoólatras. Ele desejava internar Francine, mas aguardava uma iniciativa dela mesma. Finalmente, quando Irene retornou à Itália, decidiu fazê-lo à força. Pediu a Clarence que não estivesse presente à chegada da ambulância.
Aliviado, Julius concordou. Pegou um dos carros na garagem e saiu dirigindo, por horas, a esmo. Só retornou a Greenwich à noite. Já haviam levado Francine.
Faltou-lhe coragem para subir até o quarto. Dirigiu-se à biblioteca. Tirou o paletó, os sapatos e estirou-se em uma poltrona. Ficou ali deitado, pensando, fumando um cigarro atrás do outro. Por fim, adormeceu.
Teresa trouxe o jantar em uma bandeja, mas não quis acordá-lo. Retornou com a comida. Pouco depois, voltou à biblioteca, cobriu o patrão com um cobertor e apagou as luzes.
Mas Clarence estava longe dali, pilotando o Super Cub, bem alto, contemplando a grande curva do Mississippi.
CAPÍTULO 46
Após a internação de Francine, Julius intensificou seu ritmo de trabalho, não raro estendendo o expediente até altas horas da noite. Além de supervisionar a corretora, o Comercial de Manhattan e a cadeia Bars, comandava pessoalmente as compras de ouro e de ações de mineradoras. Consumia vários maços de cigarro por dia, praticamente acendendo um no outro. Engolia xícaras e mais xícaras de café. À noite, antes de dormir, bebia inúmeras doses de vodca, acompanhadas de soníferos. Algum tempo depois, uma agradável dormência o envolvia. Só então desligava-se dos negócios e dormia, o sono durando no máximo cinco ou seis horas.
Só ia a Greenwich nos fins de semana. Lá, preferia a casa de Martin à sua. Em Manhattan, dividia as noites entre a cobertura do parque e a suíte da Liberty Tower, agora seu lugar preferido. Pelo menos uma vez por mês, ia até Boston e passava um fim de semana com os Lowells. Eventualmente, viajava com Martin ao Kentucky, para onde Mississippi Saylor fora enviado como reprodutor.
O hábito de trabalhar à noite, aos domingos, transformara-se num ritual. Clarence telefonava para os mercadores da noite, fazia negócios no Extremo Oriente e elaborava planos para suas empresas. Nessas noites, a bebida não lhe fazia falta.
Seu estoque de ouro aumentava progressivamente. No início de 1972, já possuía 15 toneladas, nas quais investira 20 milhões de dólares, obtidos à custa de empréstimos. Outros 20 foram usados na compra de ações de mineradoras.
O Comercial de Manhattan galgava posições no ranking dos bancos graças a uma nova técnica bancária, desenvolvida por Julius e seus executivos. Cada cliente do banco recebeu uma senha secreta. Munidos desse número, podiam fazer suas transações bancárias por telefone, sem sair de seus escritórios ou residências.
Se o crescimento do Manhattan foi surpreendente, maior ainda foi a expansão das Lojas Bars. A cadeia crescia a um ritmo de três unidades novas por mês, sob o sistema de franquia. Tão logo era aberto, cada novo ponto de venda passava a vender por preços, em média, 20% abaixo dos concorrentes locais.
Para poder vender tão barato, Julius e seus assessores, a quem os Lowells deram total autonomia, implantaram um moderno e eficiente centro de compras em Nova York. Quando compravam um item, faziam-no pesadamente, aumentando o poder de barganha com os industriais. Passaram a adquirir produtos industrializados sem a respectiva marca, obtendo um grande desconto. Vendiam-nos com a marca Bars, por preços extremamente baixos.
Francine continuava tratando-se com o doutor Rebaj numa clínica em Staten Island. O regulamento proibia visitas nos primeiros 30 dias. Decorrido esse prazo, Clarence, o coração apertado, cruzou a ponte Verazzano para ver a mulher. Não sabia muito bem como comportar-se nem o que o aguardava; talvez ela o considerasse um traidor.
Ao contrário de sua expectativa, Francine estava tranqüila, fisicamente recuperada, após um mês de desintoxicação. Mas alguma coisa nela se quebrara. Respondia às perguntas com voz monótona e infantilizada. Sim, sentia-se bem. Claro, era bem tratada, todos eram gentis.
Julius tentava portar-se de maneira natural mas sentia, o tempo todo, que falhava. Finalmente, Francine declarou-se cansada e pediu para voltar ao quarto.
O doutor Rebaj, consultado, disse que esse tipo de atitude era normal. “Conseqüência do tratamento”, explicou.
As visitas continuaram. Clarence ia todas as semanas. Voltava deprimido; embora mostrasse uma aparência saudável, Francine continuava desinteressada do mundo lá fora. Parecia a Julius que a mulher perdera a alma. Jessica, outra visitante autorizada, também não estava gostando. Como Clarence, não compartilhava a confiança do médico.
Quando Jessica saía da clínica, após as visitas, costumava encontrar-se com Julius. Esses encontros, geralmente almoços, representavam muito para ele. Ali, junto a Jessica, abandonava sua reserva habitual.
A princípio, falava de Francine, de seu desejo de levá-la para casa, mesmo contrariando a opinião dos médicos. Aos poucos, foi levado a falar de si mesmo. Narrou reminiscências da infância, sua amizade com Abramovitch. Falou também de seu primeiro trabalho, no armazém do pai, em Davenport, não muito longe de onde Jessica nascera.
Nessa época, Clarence viu seu patrimônio, subitamente, aumentado em muitos milhões. Nixon, tal como Salomon vaticinara há mais de 10 anos, desvinculou o dólar do ouro.
O fato merecia uma comemoração especial. Julius chamou o pessoal de Operações para, juntos, celebrarem na suíte. Ao final da reunião, todos se retiraram para suas casas, onde uma família os aguardava. Clarence ficou sozinho. Recordou-se do velho judeu, suas palavras proféticas, vaticinando duas grandes altas: primeiro, o ouro; depois, o petróleo.
Nos próximos anos, ganharia muito dinheiro, tinha plena consciência disso. Deveria estar exultante aquela noite. Mas não estava. Sentia apenas solidão.
Sentou-se ao telefone e ligou para alguns mercadores noturnos. Falou com West, no Oregon, deu os parabéns a Van Deer, na Cidade do Cabo – ele também vinha comprando ouro. Negociou alguns papéis com Constantine, da Rothschild. Recebeu uma ligação de Clive Maugh, interessado na compra de prata. O Centro-Europeu também vinha apostando na desindexação do dólar, Julius sabia disso.
Livrou-se rapidamente do inglês e transferiu o aparelho para a secretária eletrônica.
Subiu para a suíte. Foi até o bar. Retirou do congelador uma garrafa de vodca e levou-a para o quarto. Bebeu várias doses, sentado na cama. Podia sentir a bebida caminhando pelas artérias, hipnotizando-lhe a mente, embalando-o com sua proteção aconchegante. Mais uma vez lembrou-se de Salomon. O velho sempre tivera razão.
“Era chegada a hora de prestar atenção ao petróleo”, pensou, antes de dormir.
CAPÍTULO 47
Os negócios de Clarence não paravam de se expandir. A Associados, com apenas sete anos de existência, já se colocava entre as grandes de Wall Street. O Comercial de Manhattan, graças a uma administração eficiente, voltava a gozar do bom conceito dos tempos de Walter Monroe. Finalmente, a cadeia Bars já vendia seus produtos em 140 pontos de venda espalhados pelo país.
Metade da Associados ainda pertencia à família Al-Kabar, de acordo com o contrato secreto celebrado em 1967. Se Julius quisesse comprar a parte dos árabes, precisaria pagar o equivalente a cinco vezes o valor de 200 mil onças de ouro, correspondentes, no final de 1972, a 60 milhões de dólares.
O Manhattan encontrava-se na mesma situação. Oficialmente, o controle acionário do banco pertencia a Clarence. Apenas oficialmente, pois outro contrato, também arquivado no escritório de Basil Kennicot, garantia aos árabes metade das ações de Julius. A outra metade pertencia-lhe, de fato e de direito, mas não era algo que pudesse vender e embolsar o dinheiro, pois tomara dinheiro emprestado para poder comprar a parte de Edward Monroe.
Das Lojas Bars, Julius possuía 20%. Também essas ações estavam oneradas por empréstimos.
O império particular de Clarence crescia tão rapidamente quanto suas dívidas. Para carregá-las, pagava juros altos. Os outros banqueiros consideravam-no um homem de alto risco, um mero especulador. Não uma pessoa respeitável, e útil à sociedade, como eles, cujas famílias possuíam bancos há várias gerações.
Se quisesse, Julius poderia vender parte das empresas, pagar as dívidas, trabalhar sem sobressaltos. Mas não cogitava isso. Considerava cada aquisição uma conquista pessoal, da qual, em hipótese alguma, admitia abrir mão. Por isso, mantinha-se constantemente endividado, correndo em busca de operações de alta rentabilidade, como a compra de ouro e ações de mineradoras.
Não possuía recursos para comprar a parte dos Al-Kabars na Associados e no Manhattan, mas, mesmo se os tivesse, não o faria. Tinha consciência da importância do mercado de petróleo não só para ganhar dinheiro no curto prazo como para realizar seus sonhos mais altos. Ser sócio dos árabes, compartilhar de suas informações privilegiadas sobre as decisões do mundo do petróleo era importante para Clarence.
Três dias antes do Natal de 1972, Julius recebeu um telefonema de Kennicot.
– Senhor Clarence, desculpe-me convidá-lo em cima da hora, mas ficaria muito honrado se o senhor e a senhora Clarence viessem passar o Natal e o fim de semana prolongado em minha casa de campo. Fica no Sul, a pouco mais de uma hora de Londres. Mando um carro apanhá-los no aeroporto. Faremos uma ceia domingo à noite. Se aceitarem, Abdul al-Kabar virá também. Aliás, a presença dele é a razão deste chamado às pressas. Temos assuntos importantes a tratar. Mas, se já tem compromisso, encontraremos outra data.
– Senhor Kennicot, estarei aí. Pode contar com isso. Quanto à minha mulher, lamento, encontra-se internada em uma clínica. Passa por uma depressão. Minha secretária cuidará da passagem e informará sobre a hora de minha chegada.
Enfim, algo o alegrava. Gostava de Al-Kabar, lamentando vê-lo tão pouco. Também admirava Kennicot.
Até aquele momento, não decidira onde passar o Natal. Francine continuava internada, cada vez mais fora de sintonia. Pensara em ir a Boston, para ficar com os Lowells, ou passar a festa na casa de Martin ou Bernard. Mas o convite de Londres encerrava o problema. Poderia viajar ainda naquela noite.
Na manhã seguinte Julius desembarcou em Londres. Conforme o combinado, o motorista encontrava-se junto ao portão de desembarque tendo à mão um pequeno cartaz com seu nome.
Uma hora depois o reluzente Rolls-Royce cruzava os campos gelados de Kent. Um raro e brilhante sol de inverno iluminava o East Sussex quando chegaram à propriedade de Kennicot.
O motorista conduziu o Rolls por um pequeno aclive, cercado de árvores despidas, passou por uma capela e contornou um canteiro. Parou à porta da construção principal, uma mansão do século XIX, em forma de U.
Basil Kennicot surgiu à porta, saudando-o com os braços abertos.
Al-Kabar ainda não chegara. Clarence foi apresentado a Cora Kennicot, dispensou um convite para repousar, pois dormira bem no avião, e foi conhecer a propriedade. Kennicot cultivava rosas, passando na estufa grande parte do tempo quando estava em Sussex.
O árabe chegou duas horas mais tarde. Uma aconchegante sala de estar acolheu os três homens. Enquanto um criado colocava sobre a mesa um bule de chá, xícaras, um açucareiro e uma travessa de prata com pequenos sanduíches de pepino, falaram de amenidades. Mais tarde, por iniciativa de Abdul, passaram a tratar de negócios.
– Bem, meu amigo americano. Já nos conhecemos há nove anos. Lembro como se fosse ontem: o Aeroporto de Chicago, no dia da morte do presidente Kennedy. Quanto à nossa sociedade, já vai completar seis anos. Tem sido boa para os dois lados. Só assim os negócios podem dar certo. Mas agora são necessárias algumas modificações. Kennicot poderá explicar melhor.
O anfitrião serviu o chá fumegante, sorveu um pequeno gole e olhou para Clarence.
– Se não se importa, creio que já é hora de nos chamarmos pelo primeiro nome.
Clarence assentiu satisfeito. O inglês continuou.
– Julius, você sabe o significado de blind trust?
– O nome não me é estranho. Tem algo a ver com a administração dos bens pessoais dos políticos e homens do governo?
– Exatamente. Na América, quando uma pessoa de posses assume um cargo importante no governo, entrega seus investimentos particulares a um procurador. Este administra o portfólio com poderes totais. O dono da carteira é notificado apenas dos resultados. Não sabe em quais ações o dinheiro é investido. Assim, se, em função do cargo, ficar sabendo de informações privilegiadas, não poderá usá-las em proveito próprio.
Kennicot apontou o dedo na direção de Abdul.
– Julius, até agora você tem administrado, de maneira notável, eu diria, o dinheiro dos Al-Kabar. Envia para mim um relatório completo das operações. Eu me encarrego de fornecer-lhes uma cópia resumida. Mas agora surgiu um fato relevante.
Clarence temeu alguma complicação. Por pouco tempo, pois o advogado se apressou em esclarecer.
– Abdul foi convidado por seu rei a assumir o cargo de ministro do Petróleo. Aceitou a tarefa, e a imprensa saberá disso após o Ano-Novo. Devido à nova situação, ele resolveu fazer como os americanos e entregar seus investimentos a um blind trust, com você. Eu continuarei a saber das operações. Abdul e sua família conhecerão apenas os resultados. Nosso ministro pretende dedicar-se e preocupar-se unicamente com os negócios de Estado.
Julius apertou a mão de Al-Kabar, cumprimentando-o pela nomeação. Mas ficou frustrado. Logo agora, quando o amigo se tornava uma pessoa influente no mundo do petróleo, perderia o contato. Restava-lhe o consolo de conhecê-lo bem, saber como pensava. Poderia, pelo menos, deduzir suas decisões, com alguma vantagem sobre os concorrentes.
Os três homens passaram o fim de semana de Natal reunidos. Clarence procurou absorver ao máximo as palavras de Abdul. Seria preciso, a partir de agora, colocar-se na posição do amigo árabe para decifrar os rumos do mercado de petróleo, onde esperava dar sua próxima tacada.
Na segunda-feira, dia de Natal, à tarde, antes de voltar a Nova York, Julius conversou longamente com Al-Kabar. Recebeu um último conselho.
– A partir de agora, quando pensar em petróleo, imagine o impossível. Um barril está custando 3 dólares. Não se surpreenda se, no próximo inverno, esse número tiver subido 400 ou 500%.
Kennicot e Al-Kabar levaram Julius até o carro. O árabe e o inglês tinham ainda diversos assuntos a tratar. Antes da despedida, uma última advertência:
– Julius, é uma questão de tempo o fim do império das companhias petrolíferas americanas e européias. As Sete Irmãs, como vocês as chamam na América, estão com os dias contados no Oriente Médio e na Venezuela. A nacionalização será inevitável. O Ocidente depende de nosso petróleo para manter seu ritmo de desenvolvimento, mas parece não perceber isso. Continuam desperdiçando energia, como faziam no início do século, quando o querosene custava uma insignificância e a gasolina era quase de graça.
Naquela noite de segunda-feira, 25 de dezembro de 1972, Julius Clarence embarcou para Nova York com o pensamento imerso em petróleo. Enquanto os operadores, banqueiros, corretores e especuladores ainda descansavam dos festejos de Natal, Julius voava sobre o Atlântico pensando nas palavras do amigo.
“Quatrocentos ou quinhentos por cento”, dissera o beduíno.
CAPÍTULO 48
Tão logo chegou a Nova York, Clarence recebeu um telefonema de David Lowell.
– Estamos organizando um réveillon aqui em casa e fazemos questão de sua presença.
– É uma ótima idéia, David. Já tinha até me esquecido da passagem do ano, no fim de semana. Com tanto trabalho, e com Francine internada, simplesmente não me lembro dessas datas. Ontem mesmo, dia de Natal, estive na Europa tratando de negócios. – Quando se tratava de encontros com Al-Kabar, Clarence tomava cuidado para não dar detalhes. A única pessoa a quem deixava escapar alguma coisa era a secretária, Diane.
– Desculpe se estou me intrometendo, mas por que você não traz a Francine? Quem sabe não será bom para ela? Bem, Julius, um dia ela vai ter que sair pela primeira vez, você não acha?
Clarence gostou da sugestão. Telefonou ao doutor Rebaj. O psiquiatra concordou com a idéia. Já estava na hora de a paciente sair um pouco, fazer seu primeiro teste no mundo exterior.
Para grande desapontamento de Julius, Francine não demonstrou interesse em sair.
– Vai haver uma festa dos internos – justificou ela, timidamente. – Desculpe-me, Julius, mas estou encarregada da decoração, não posso sair assim de repente. Mas estou certa de que, no próximo ano, estarei boa. Poderemos, então, ir a Boston novamente. Se você não se importa, Julius, preciso voltar a meu quarto. Estou muito cansada.
No dia 31, Clarence já se encontrava no aeroporto quando desistiu de ir a Boston. Cansara-se de ir aos lugares sozinho, as pessoas esmerando-se em distraí-lo, para depois comentar, às suas costas, sobre Francine.
Telefonou para David, deu uma desculpa e ficou em Nova York. Foi para a cobertura do parque, ceou sozinho, servido por Jesus, e depois saiu para uma caminhada.
Uma neve fina caía sobre a cidade. Os flocos desciam do céu, brilhavam sob as luzes da cidade em festa e se transformavam em uma lama escura, ao contato com o asfalto. Clarence desceu a 5ª Avenida, passou pelo Rockefeller Center e caminhou pela 52, até a Broadway.
Os transeuntes riam e se beijavam. Julius continuou caminhando. Rua 40, Rua 30. Agora, quase desertas.
A meia-noite encontrou-o perto do Village. Estivera andando por duas horas. Procurou não pensar em nada. Desceu para uma estação de metrô e retornou ao apartamento.
Ao final daquele ano, seu patrimônio estaria multiplicado. Mas ainda não sabia disso. Como ninguém sabia que, um ano depois, o Ocidente estaria mergulhado na crise do petróleo, na recessão e na inflação. Por isso, comemoravam tanto.
Alguns dias após o réveillon, Clarence voltou a visitar Francine. Encontrou-a integrada aos trabalhos da clínica, desconectada do mundo exterior. Era como se houvesse morrido e ali estivesse outra pessoa, uma impostora roubando sua fisionomia.
Chegando ao escritório, recebeu um telefonema de Jessica Lowell. Havia mágoa em sua voz.
– Julius, por que você não veio a Boston? Sentimos sua falta.
– Bem, Jessica, eu avisei David. Simplesmente não me senti à vontade, quero dizer, sem Francine. Preferi ficar sozinho. Mas conte-me tudo: como foi a festa? Divertiram-se muito?
– A festa foi maravilhosa, Julius. Todos adoraram.
Ficou em silêncio por alguns segundos.
– Sim, todos... todos menos eu, Julius – balbuciou, indecisa.
– Compreendo como você deve ter sentido a falta de Francine. Acabo de chegar da clínica. Ela continua do mesmo jeito. Totalmente alheia, você sabe como.
Jessica baixou o tom de voz. Julius sentiu sua respiração do outro lado da linha. Agora, ela estava quase murmurando.
– Julius, eu senti falta de você. De você, não de Francine. Eu queria vê-lo. Apenas vê-lo.
– Claro, Jessica. Eu também tenho sentido falta de nossos almoços, de nossas conversas. Acho até que foi isso que me impediu de ir à festa. Me acostumei a conversar com você, mas, com tanta gente, simplesmente não é a mesma coisa.
– Julius, você não está entendendo. Eu gosto da Francine, me importo com ela. Mas não era para falar da Francine que eu queria ver você. Que coisa horrível eu estou dizendo. Eu sei. Mas eu preciso falar.
– Então fale, Jessica. Me diga qual é o problema. Você sabe que pode me dizer tudo. Sempre.
– Julius, todos os dias, desde o réveillon, eu pego o telefone, mas desisto. Perco a coragem. Eu amo você. Eu amo você, ouviu? Era isso que eu tinha para dizer. Desde a viagem pelo Caribe, eu amo você.
Clarence ficou atônito. A imagem de Jessica no barco veio imediatamente à sua mente. Tinha sido um completo idiota. Como não percebera nada? Agora, ouvindo-a falar, tudo ficou claro. Os olhos castanhos de Jessica fixados nele, no barco, em Boston. Ela estava sempre olhando para ele. Procurando pretextos para se aproximar.
Por algum tempo ficaram os dois mudos, um de cada lado da linha, o telefone à mão. Jessica, aliviada por ter tido a coragem de revelar seu segredo. Julius, não encontrando nada para dizer.
– Você está aí? – finalmente ela quebrou o silêncio.
– Estou, Jessica, tentando colocar a cabeça em ordem. Deixe-me resumir os fatos. Você, Jessica Lowell, casada com Andrew Lowell, meu sócio e amigo, está apaixonada por mim. Eu, Julius Clarence, marido de Francine, por sinal sua amiga, internada para tratamento de alcoolismo, devo ficar lisonjeado e diz... Jessica! Isso vai acabar mal.
– Julius, ninguém sabe de nada. É um segredo meu. Não queria contar para você. Mas não agüentei. Eu amo você, Julius. Quero você. Não me importa Andrew, nem Francine, nem ninguém, ninguém. Quero você para mim. Pelo menos um pouquinho, de vez em quando. Eu o amo tanto.
Julius ainda tentou dizer algo sensato. Pensou em Francine, em Andrew Lowell, nos outros irmãos. Mas sentiu apenas uma súbita e enorme vontade de ter Jessica em seus braços, de beijá-la, levá-la para a cama, fazer amor com ela.
– Jessica, não vou mentir. Ouvindo-a falar assim, fiquei com vontade de estar junto de você. Mas não vamos fazer nada precipitado. Muita gente pode sair magoada, quero dizer, Francine e Andrew. Ela está internada, não podemos nos esquecer disso. Precisamos agir com calma. Senão, iremos nos arrepender.
– Eu sei, Julius. Também não quero magoar Francine. Nem Andrew, ele me adora. Mas eu quero ver você. Ninguém precisa saber nada.
– Jessica, ouça com atenção. Não vamos resolver isso por telefone. Escolha o dia, o lugar, a hora. Vou me encontrar com você. Precisamos conversar pessoalmente. Mas, por favor, se cuide. Não vá fazer nenhuma bobagem.
Jessica desligou. Clarence ficou sentado em sua sala, olhando o dia cinzento lá fora. Continuou assim por muito tempo. Sua intuição lhe dizia que algo de muito importante acabara de acontecer em sua vida.
CAPÍTULO 49
Naquele inverno de 1972-73 havia pouco petróleo para cobrir toda a demanda. Qualquer interrupção na oferta faria faltar o produto. Alguns refinadores estavam encontrando dificuldades em conseguir matéria-prima. Diversos estudos projetavam um racionamento de gasolina quando o consumo aumentasse, no verão.
Julius, em Nova York, e o Sindicato, em Lausanne, estavam atentos a isso.
No final de janeiro, Julius e Jessica se encontraram. Para sair livremente do escritório, Julius usou Martin Beresford. Como tinha agenda aberta, sempre informava a Diane e ao pessoal da mesa onde e com quem estava. Anunciou, então, uma viagem-relâmpago, com Martin, ao Kentucky, e tomou um avião no La Guardia para Boston.
Duas horas depois, conforme o combinado, tocou a campainha do quarto do hotel. Jessica abriu a porta e lá estava Julius, do lado de fora, o sobretudo à mão, o mesmo sorriso claro que sempre a hipnotizara.
Julius planejara uma conversa séria. Mas não chegou a pronunciar a primeira palavra. Jessica abraçou-o com força. Ele largou o sobretudo. Os dois ficaram parados, de pé, beijando-se carinhosamente, por muito tempo, como se quisessem protelar ao máximo o que certamente estava por vir.
Enquanto suas línguas se exploravam, a princípio com delicadeza, depois furiosamente, a mão de Julius foi desabotoando, lentamente, um por um, os botões às costas do vestido de Jessica. Quando chegou ao último, ela desapertou o cinto.
A roupa deslizou para o chão, revelando o corpo branco, a calcinha de seda, o sutiã meia-taça; ela retirou o paletó e a gravata de Julius e desabotoou-lhe a camisa. Acariciou-lhe os cabelos do peito, desceu as mãos e abriu a fivela do cinto.
Ele passou o braço sob as nádegas de Jessica, elevou-a no ar e a carregou para a cama. Ficaram ali, entrelaçados.
Jessica não resistiu por muito tempo. Livrou-se do resto de suas roupas e, girando o corpo, fez com que Julius ficasse por cima dela. Gemeu e chorou de emoção, felicidade e prazer quando ele penetrou em seu corpo e a levou ao orgasmo.
Clarence retornou a Nova York ainda naquela noite. A partir de então, Jessica passou a ligar diariamente. Diane foi a primeira pessoa a perceber o romance entre o patrão e a mulher do sócio. Mas a secretária era cega, surda e muda.
Continuaram a encontrar-se. Às vezes, ele viajava para Boston. Outras, ela voava para Nova York. Para vê-lo, Jessica era obrigada a fazer verdadeiras acrobacias, inventando cada vez um pretexto diferente para chegar tarde em casa. Andrew Lowell nada percebia. Em nenhum momento desconfiou que sua mulher tinha um amante. Muito menos que era seu sócio e amigo.
Mas Jessica Lowell e Julius Clarence eram pessoas conhecidas. Suas fotografias freqüentavam os jornais. Com o tempo, era previsível, uma ou outra pessoa deparava com o casal entrando ou saindo de um hotel, em Boston ou Nova York. Começaram a surgir os primeiros rumores...
O romance com Jessica não interferia com o trabalho de Julius, nada interferia com o trabalho de Julius. Chegara a primavera e, com ela, uma escassez maior de petróleo. A Associados e o Sindicato permaneciam atentos, à espreita da melhor oportunidade para comprar.
Enquanto isso, no Cairo, o presidente egípcio, Anwar al-Sadat, concentrava-se em um único objetivo. Expulsar Israel da margem oriental do canal de Suez, posição ocupada pelos judeus desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967.
Já há algum tempo, junto com o presidente sírio Hafez al-Hassad, Sadat fazia planos para atacar os israelenses. Além dos dois presidentes, o único estadista a compartilhar do segredo era o rei Faissal, da Arábia Saudita. Nos planos de Sadat, o uso da arma petróleo seria fundamental para a concretização de seus objetivos.
Em abril, Alan Payne soube do conteúdo de um relatório de James Akins, assessor da Casa Branca para assuntos energéticos. Akins advertia Nixon sobre a possibilidade de falta de combustíveis. A relação entre a oferta e a demanda encontrava-se cada vez mais apertada.
Na mesma época, um resumo do relatório chegou às mãos de Otto Behr.
No início do verão, a Associados e o Sindicato começaram a comprar contratos futuros de petróleo.
CAPÍTULO 50
Há horas, Leonid Brezhnev lutava contra a insônia. Por fim, desistiu. Acendeu a luz e, só depois de algum tempo, localizou o interruptor do aparelho de ar condicionado, cujo zumbido o incomodava. Desligou-o e abriu as janelas.
O barulho das ondas do Pacífico invadiu o aposento. Brezhnev voltou à cama, apagou a luz, mas continuou acordado.
O líder soviético não se sentia à vontade no terreno do adversário. Encontrava-se hospedado na fazenda do presidente Nixon, em San Clemente, na Califórnia. Os dois participavam de mais uma reunião de cúpula, colocando em dia a eterna agenda comum das duas superpotências: desarmamento, paz mundial e, bem lá entre eles, divisão da Terra entre os feudos soviético e americano.
Brezhnev estava preocupado. Pouco antes de sua saída de Moscou, o KGB o informara dos planos do Egito e da Síria de um ataque de surpresa contra Israel.
O quase setuagenário secretário-geral temia uma guerra envolvendo as duas potências. Por isso, tinha vontade de informar Nixon da intenção dos árabes. Mas seu ministro das Relações Exteriores, Andrey Gromyko, achava que os americanos deveriam ser mantidos na ignorância.
Enquanto ouvia o barulho das ondas, Brezhnev avaliava mentalmente as duas possibilidades. Passar ou não a informação a Nixon.
Súbita e impulsivamente, o soviético acendeu novamente a luz, vestiu um robe sobre o pijama e tocou a campainha. Foi atendido prontamente por um ajudante-de-ordens, de serviço junto à porta, do lado de fora do aposento. Brezhnev mandou o oficial dar um recado aos americanos: precisava falar com Nixon imediatamente.
Vinte minutos depois, o surpreso e sonolento presidente americano ouvia o angustiado colega soviético em seu escritório particular. Brezhnev procurou as palavras adequadas, sem revelar integralmente suas informações, para alertar Nixon da gravidade da situação no Oriente Médio.
Nixon ouviu pacientemente, mas não acreditou em Brezhnev. Se o tivesse feito, talvez impedisse a guerra no Oriente Médio, alguns meses depois, e, mais ainda, talvez viesse a evitar a crise do petróleo desencadeada pela guerra. Mas estava totalmente absorto pelo caso Watergate.
No dia seguinte, Nixon relatou a conversa a Kissinger, que, por sua vez, discutiu o assunto com um assessor. Este bebeu e falou demais numa roda noturna de Washington. Alan Payne veio a saber e contou imediatamente a Clarence. Julius, ao contrário de Nixon, acreditou em Brezhnev.
Naquele verão, o dólar vinha caindo, devido à crise política americana. Entre os produtores de petróleo crescia um sentimento de insatisfação pelo fato de trocarem sua principal riqueza por uma moeda em queda livre.
A Arábia Saudita detinha o destino do petróleo, produzindo 8 milhões de barris por dia. Abdul al-Kabar, homem de confiança do rei Faissal, era o responsável pela produção e comercialização de tão valiosa riqueza. Apreensivo com a queda do dólar, Abdul fazia gestões junto à Aramco para promover um aumento nos preços e, assim, gerar mais divisas para seu país.
A escassez aumentava. Para agravá-la, no primeiro dia de setembro Kadafi estatizou 51% do capital das empresas petrolíferas da Líbia. Enquanto isso, o Iraque, a Argélia e a própria Líbia insistiam, com os outros membros da OPEP, para que todos aumentassem os preços.
Al-Kabar concordava com os aumentos. Porém, ao contrário dos radicais, defendia uma alta moderada. Se a dose fosse excessiva, proclamava, haveria uma recessão mundial, com prejuízo para todos, inclusive para eles, países da OPEP.
Mas um ponto comum unia os produtores. O descontentamento com as empresas concessionárias. Mesmo com sucessivos aumentos, elas retinham a maior parte do lucro.
Em setembro, Sadat escolheu a data do ataque a Israel: sábado, 6 de outubro, dia do Yom Kippur, o mais sagrado feriado judaico. Nesse dia, o líder egípcio esperava encontrar um mínimo de prontidão entre as forças armadas israelenses, a maioria dos oficiais e soldados recolhida, observando o jejum.
A rapidez de mobilização era vital para qualquer ação defensiva dos judeus. Sadat sabia disso.
Otto Behr, metódica e pacientemente, juntou as peças do quebra-cabeça com o qual trabalhava há várias semanas. A sua frente, informações obtidas de fontes diferentes não deixavam dúvidas quanto à proximidade do ataque árabe. Só não entendia como os serviços de informação israelense, via de regra tão eficientes, ainda não haviam se dado conta da iminência do ataque.
Para Otto a situação era clara: o presidente Hassad, da Síria, ordenara a expansão imediata dos cemitérios daquele país; os hospitais egípcios vinham sendo desocupados; os doentes, remetidos a suas casas. E, mais revelador, um informe, recebido por Behr algumas horas antes, mostrava uma ordem de repatriação, para a União Soviética, das famílias dos assessores militares soviéticos baseados na Síria e no Egito.
Eram sinais claros do início da guerra.
Seguindo sua metodologia de raciocínio, Otto colocou-se no lugar do presidente egípcio. Optou pelo Yom Kippur como data para o ataque. Satisfeito com suas conclusões, ligou para René Russon. O presidente do Sindicato convocou imediatamente uma reunião do Comitê Diretor.
Após uma hora de deliberação, decidiram comprar petróleo em Roterdã e a carga de vários petroleiros no mar.
Do outro lado do Atlântico, Julius Clarence registrava o quanto estavam escassos os suprimentos mundiais de petróleo. Sabia ser apenas uma questão de tempo, pouco tempo, a realização de mais uma profecia de Salomon Abramovitch.
Julius decidira apostar até a última ficha no petróleo.
CAPÍTULO 51
Jessica pegou a correspondência na caixa do correio, separou suas cartas e, como de hábito, colocou as de Andrew sobre a escrivaninha do marido. Cansado, à noite, este não se deu ao trabalho de abrir os envelopes. Colocou-os em sua pasta, para fazê-lo no dia seguinte.
Já no escritório, Andrew Lowell abriu a correspondência, leu a carta anônima e ficou lívido.
De início, não acreditou em uma palavra sequer. Chegou a sentir remorsos por ter lido até o fim. Amassou o papel e jogou-o na cesta de lixo. Depois, foi até ela, recolheu a carta, leu-a de novo, mais uma vez, uma outra. Então as coisas começaram a fazer sentido.
Agora, estava ali sentado, a carta na mão, contendo-se para não chorar de tristeza e ódio. Levantou-se, foi até a janela, os olhos marejados, ficou espiando os barcos na baía. Leu mais uma vez.
Andrew Lowell,
Peço desculpas pelo anonimato. Alguns chamam-no de covardia. Prefiro chamá-lo de discrição, discrição e respeito, melhor dizendo.
Trata-se de sua esposa, Jessica. Ela o vem traindo há algum tempo. Quase todas as semanas ela se encontra, às escondidas, com Julius Clarence, o especulador de Wall Street, seu sócio nas Lojas Bars. Às vezes, os dois pombinhos se encontram em Nova York; outras, aqui mesmo, em Boston.
O último encontro aconteceu em Nova York, na quarta-feira da semana passada. A senhora Lowell embarcou no vôo das 10h30 da manhã da Eastem Airlines, desembarcou no La Guardia 40 minutos depois e seguiu para o Waldorf Astoria. Lá, o senhor Clarence a aguardava. Retornou às 16h30, de novo pela Eastern. Certamente esperou você em casa, à noite, com um beijo carinhoso.
Não sou uma chantagista. Se fosse, estaria escrevendo para Jessica Lowell ou Julius Clarence, não para você. Sou apenas uma pessoa bem informada, como pode perceber.
Não tenho provas. Afinal, isto é apenas uma informação, um pequeno favor pessoal e desinteressado, não uma acusação em um tribunal. Mas tenho certeza de uma coisa, Andrew Lowell. Se você seguir Jessica quando ela for almoçar e passar o dia com uma amiga, ou inventar qualquer outra desculpa para ficar fora de casa o dia todo, se certificará do quanto é verdadeira esta minha carta.
Sinceramente,
Uma amiga anônima
A rotina de Clarence vinha sendo exaustiva, mesmo para alguém como ele, acostumado a trabalhar sem descanso desde os 15 anos. Dirigia a Associados, o Manhattan e a cadeia de lojas. Acompanhava as operações de ouro e petróleo.
Quase sempre dormia na Liberty Tower, para poupar tempo com deslocamentos. Visitava Francine semanalmente. Não observara nenhuma melhora, mas, desde seus primeiros encontros com Jessica, a doença da mulher não mais lhe causava depressão. Apenas pesar.
Naquela sexta-feira, Julius dispensou Antoine e foi cedo para o escritório. Trabalhou somente até as 11h. Desceu para a garagem. Meia hora depois, voava no Mercedes esporte, prata, pela 95, rumo norte, torcendo para não ser colhido pelo radar dos tiras.
Planejava chegar ao Motel Ocean Side, na US-1, em Grove Beach, Connecticut, no máximo à 1h da tarde. Poderia assim ficar com Jessica até as 3h30, talvez até as 4h.
No motel, ela já o aguardava no quarto. Instantes depois rolavam na cama, presas de fúria passional. Despediram-se quase três horas depois, com a sensação de ter ficado juntos apenas alguns minutos.
Jessica saiu apressadamente do motel e tomou a estrada rumo norte.
Julius foi calmamente até a portaria, pagou a conta e dirigiu-se ao Mercedes, estacionado no pátio interno. Entrou no carro, acendeu um cigarro, acionou o motor e guiou vagarosamente até o portão de saída. Preparava-se para dobrar à esquerda, rumo sul, quando viu Andrew Lowell parado do outro lado da estrada, junto a um poste de iluminação.
Não podia, simplesmente, continuar dirigindo e ir embora, ignorando-o. Engrenou marcha a ré e retornou ao estacionamento do motel, tentando imaginar a melhor maneira de sair da situação. Nenhuma idéia brilhante lhe ocorreu. Deixou o carro no pátio e caminhou até o portão. Lowell permanecia lá.
Atravessou a estrada para falar com ele. Mas não chegou a pronunciar a primeira palavra. Andrew o atingiu com um murro na ponta do queixo, fazendo-o perder o equilíbrio e desabar sobre o asfalto.
Julius apoiou-se no chão com as palmas das mãos e tentou colocar-se de pé. Não houve tempo. Um violento pontapé na têmpora deixou-o sem sentidos por algum tempo. Quando se levantou, finalmente, algumas pessoas formavam um círculo a seu redor.
Andrew Lowell havia ido embora. Sem responder às perguntas dos desconhecidos, Clarence atravessou rapidamente a estrada e voltou, pela terceira vez, ao pátio do motel.
Tentou colocar as idéias em ordem, apesar da dor lancinante. Pensou em Jessica, temeu por ela. Pensou em Francine também.
Sem conseguir restabelecer o autodomínio, manobrou o Mercedes no estacionamento, passou velozmente pelo portão de saída e pisou forte no acelerador, o fundo do carro batendo no chão da calçada, os pneus cantando e soltando fumaça do atrito com o asfalto.
Sem saber para onde ir, tomou o rumo sul.
CAPÍTULO 52
Pela primeira vez na vida de Clarence, seus assuntos pessoais interferiam nos negócios. Os mercados passaram a um plano secundário. Cada minuto foi dedicado a solucionar a crise gerada pela descoberta de seu romance com Jessica.
A cadeia Bars constituiu-se na primeira baixa do incidente. Os Lowells acusaram Clarence de traição covarde, ao se aproveitar da amizade para roubar a mulher do sócio e amigo. Retiraram seus poderes, o comando das lojas voltou para Boston e Clarence tornou a ser apenas acionista.
O mercado soube da notícia e as ações caíram 10%. Foi necessário passar pelo constrangimento de explicar tudo a seu pessoal.
Ele mesmo se encarregara de contar a Francine. O doutor Rebaj viu-se obrigado a sedá-la, mas ela, agora, encontrava-se bem, embora se recusando a receber o marido.
Depois de flagrar os amantes, Andrew Lowell voltara para casa disposto a bater na mulher com a mesma violência usada contra Clarence. Não conseguiu. Estava desesperado, mas não era um covarde.
Jessica fora obrigada a sair imediatamente. Encontrava-se, agora, na fazenda dos pais, em Illinois. Telefonava diariamente para Julius, mas ainda não haviam se encontrado novamente devido aos problemas que o prendiam no escritório.
Os juros estavam em alta. Apesar disso, Clarence endividava-se cada vez mais. Seus bens pessoais, as ações da Associados, do Manhattan e das lojas Bars encontravam-se comprometidos pelos empréstimos que contraíra. Para saldá-los seria preciso que ocorresse rapidamente uma forte alta no petróleo.
Visando agilizar suas operações no mercado spot de Roterdã, Julius montou às pressas um escritório naquela cidade, para onde enviou Bernard Davish. Os dois mantinham-se em contato permanente. Davish comprava o máximo possível de óleo cru e fretava petroleiros para armazená-lo.
Embora endividado até a raiz dos cabelos, Julius desejava comprar o restante da Bars e trazer de volta a administração para Nova York. Era tarefa quase impossível: era ele o minoritário, não os Lowells. Mas, se não pudesse comprar a parte dos irmãos, tentaria vender a sua o mais caro possível.
Era o responsável pela recuperação da empresa desde quando o guru Vincent Cotten derrubara o papel, tinha consciência disso. Sabia quanto as lojas deviam a ele e a sua equipe.
Para resolver o impasse, solicitou um encontro informal com David Lowell em Boston. Não o obteve. Em lugar disso, David marcou uma reunião formal de acionistas, presentes os três irmãos, Stella, Stephanie e os advogados da família.
Foi uma reunião longa, penosa para todos.
Clarence viu-se obrigado a enfrentar os olhares hostis de Andrew, dos irmãos e das mulheres. Mas tinha plena consciência de seu papel. Se fizesse um mau negócio, estaria prejudicando os cotistas de seus fundos, a Associados e Al-Kabar, seu sócio na corretora. E tanto os cotistas dos fundos quanto Abdul nada tinham a ver com seu romance. Por isso, negociou duro.
Ao final do encontro, Julius vendera as ações sob seu controle. Nada mais tinha a ver com a Bars, empresa à qual tanto se dedicara nos últimos tempos. Por outro lado, a entrada do dinheiro diminuiu suas dívidas e permitiu-lhe maior dedicação ao mercado de petróleo.
Para surpresa de Julius, nos primeiros dias de outubro, Francine o chamou a Staten Island, oferecendo-lhe o divórcio. Começava a sentir-se melhor, o tratamento surtia os primeiros efeitos. Desejava voltar à França, retomar seus estudos de arquitetura. Quase na mesma época, Andrew concedeu o divórcio a Jessica.
Julius e Jessica se encontraram pela primeira vez, desde a tarde fatídica em Grove Beach. Passaram juntos um fim de semana na cobertura do parque. Decidiram casar-se o mais breve possível.
Clarence sentia-se feliz, diminuiu a bebida, parou de tomar comprimidos para dormir. A tempestade se dissipara.
CAPÍTULO 53
Sexta-feira, 5 de outubro, 5h30 da tarde em Nova York. Clarence encerrou o expediente e subiu à suíte, onde Jessica o aguardava. Ao contrário de Claire e Francine, ela se interessava pelos detalhes do trabalho de Clarence. Não raro, o acompanhava em seu expediente noturno e ouvia suas conversas com os mercadores da noite.
Naquela tarde, Julius explicou-lhe sua estratégia no mercado.
– Os combustíveis estão escassos – disse ele. – A qualquer ameaça de interrupção no fornecimento o preço poderá ir às nuvens. Esta é a razão pela qual estou comprando tanto petróleo, mesmo tendo que me endividar.
No mesmo instante em que Julius conversava com Jessica na Liberty Tower, já passava da meia-noite no Cairo e os pilotos egípcios eram instruídos sobre seus alvos em Israel.
Enquanto os aviadores recebiam suas ordens, na margem oriental do canal de Suez, na península do Sinai, na Cisjordânia, em Jerusalém, nas colinas de Golan e no antigo e diminuto território de Israel, os cidadãos se recolhiam, preparando-se para celebrar, no dia seguinte, o Dia do Perdão.
Também naquela hora, ignorando completamente o plano de ataque egípcio, Abdul al-Kabar embarcava no Aeroporto Internacional de Riad, com destino a Viena, onde participaria de uma reunião da OPEP.
Nem os aviadores egípcios, nem os devotos cidadãos de Israel, nem mesmo Al-Kabar podiam avaliar o alcance dos acontecimentos dos próximos dias, após os quais o mundo mergulharia na recessão e na inflação, vendo-se diante da maior crise energética enfrentada pela humanidade desde a descoberta de óleo pelo coronel Edwin Drake em Titusville, Pensilvânia, em 1859.
Talvez as únicas pessoas a ter consciência da gravidade do momento fossem Julius Clarence – que vinha se preparando para esse momento há 13 anos – e os diretores do Sindicato, em Lausanne.
Às 2h da tarde do sábado, 6 de outubro, dia do Yom Kippur, o barulho estridente de 200 jatos egípcios se fez ouvir sobre o canal de Suez e a península do Sinai.
Em cumprimento de suas missões, os pilotos atacaram as guarnições israelenses na margem oriental do canal. No mesmo momento, a artilharia egípcia abriu fogo contra as posições inimigas. Em sincronia com seus aliados, aviões sírios atacaram Israel pelo norte, seu ataque reforçado por 500 peças de artilharia.
Iniciara-se a Guerra do Yom Kippur, a quarta entre árabes e israelenses, cujas conseqüências o Ocidente amargaria por sete longos anos.
Ao chegar a Viena, Al-Kabar inteirou-se das vitórias alcançadas pelos árabes, em função do efeito surpresa. Nas suítes do Hotel Intercontinental, os homens da OPEP, a quem caberia dar as cartas no mundo econômico por quase uma década, reuniam-se satisfeitos, comentando os acontecimentos.
Em outros quartos do hotel, os representantes das empresas petrolíferas entreolhavam-se preocupados.
Ao contrário da Guerra dos Seis Dias, seis anos antes, os primeiros lances da Guerra do Yom Kippur sucederam-se durante o fim de semana, com os mercados fechados. Só iriam abrir na segunda-feira de manhã, horário do Extremo Oriente, começo da madrugada na Europa, final da tarde de domingo na Costa Leste americana.
Tão logo soube do ataque árabe, Clarence tomou suas primeiras providências. Convocou Alan Payne e alguns operadores da mesa à suíte do escritório. Estudaram os acontecimentos e fizeram projeções para as cotações das bolsas, ouro e petróleo.
Julius esticou ao máximo a noite de sábado, levando Jessica e seu pessoal para jantar. Retornando à suíte, lutou contra o sono. Foi dormir às 6h da manhã. Com tal procedimento, adiantou seu próprio fuso horário, como se estivesse mais a leste. Quando acordou, às 2h da tarde, encontrava-se em condições de trabalhar por toda a noite e aproveitar os primeiros momentos do mercado após o início da guerra.
Em Lausanne, René Russon, contrariando seus hábitos de domingo, sempre dedicados à prática e ao estudo do xadrez, convocou sua diretoria para uma reunião. A novidade foi a presença de Clive Maugh, pela primeira vez convidado a participar de deliberações com os diretores.
No encontro, Otto Behr relatou os acontecimentos no teatro de guerra, as vitórias iniciais das forças sírias e egípcias e, demonstrando uma profunda percepção dos acontecimentos, alertou os presentes sobre a importância da reunião da OPEP, em Viena, e da possibilidade do surgimento de uma grande divergência entre os países-membros daquela organização e as empresas petrolíferas ocidentais.
Ao final da reunião, decidiram comprar o máximo de petróleo possível, juntando novos lotes às compras recentes.
Segunda-feira, 8 de outubro de 1973. O dia amanheceu no Extremo Orien-te. Em algumas horas, os operadores da Austrália, do Japão, de Hong Kong e dos principais mercados do outro lado do mundo, privilegiados pela vantagem a eles conferida pelo fuso horário, seriam os primeiros protagonistas de mais uma emocionante jornada, proporcionada por sua fantástica profissão de mercadores de dinheiro.
No novo capítulo da História, mal iniciado, qualquer erro de avaliação dos acontecimentos detonados no sábado pelas tropas egípcias e sírias poderia significar sérios prejuízos. Por outro lado, se interpretassem corretamente os lances da nova guerra, seriam elevados ao pódio dos vencedores.
Juntando-se aos operadores do Oriente, os mercadores da noite, espalhados pela Europa, África e América, viam seu seleto e exclusivo clube subitamente aumentado por centenas de profissionais, atraídos pela possibilidade de lucro rápido, garantido pelos homens em luta no deserto.
Julius estivera na plataforma de operações, um andar abaixo, junto a seus melhores homens, mantendo-se em contato permanente com Davish em Roterdã.
Ao longo de toda a noite haviam comprado petróleo, primeiro no Oriente, mais tarde na Europa. Agora, pouco antes do nascer do sol, Clarence subira à suíte para tomar o café da manhã com Jessica.
Junto a ela, viu os primeiros raios de sol iluminando a Verrazano. À esquerda, o East River, à direita, o Hudson, ao fundo, Staten Island, onde se encontrava Francine, a Estátua da Liberdade e, bem ao longe, um superpetroleiro dirigindo-se a Nova Jersey com sua carga preciosa.
Julius pensou em seus dois amigos, o judeu Salomon Abramovitch e o árabe Abdul al-Kabar, cujos povos se enfrentavam do outro lado do mundo.
CAPÍTULO 54
Naquela segunda-feira, Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, fez um dramático apelo a Nixon. Se os Estados Unidos não fornecessem urgentemente armas e munições aos israelenses, o Estado judeu poderia ser aniquilado.
No mesmo dia, em Viena, os representantes das empresas petrolíferas ofereciam a Al-Kabar um aumento simbólico no preço do barril, de 3 dólares para 3,50. Abdul, embora fosse o mais moderado entre os ministros presentes, repeliu a proposta. Exigiu um reajuste de 100%, para 6 dólares. Pensava, com isso, aplacar a Argélia, a Líbia, o Iraque e o Irã.
As empresas recusaram. Não percebiam a dura verdade. Seu longo reinado terminara.
No dia seguinte, o petróleo começou a escassear em Roterdã. Bernard, naquela cidade, e os homens de Clarence, em Nova York, acreditavam na repetição da estratégia adotada na Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando apuraram um lucro rápido em suas posições especulativas.
Preocupados, viam desta vez Julius vender grande parte da carteira de ações do grupo, manter as posições de ouro, estocado na Europa, e comprar dezenas de milhares de barris, pagando primeiro 4 dólares, depois 5 e, mais tarde, 6.
Bernard achava que o patrão enlouquecera. Se a guerra terminasse subitamente, o mercado poderia voltar ao preço inicial, de 3 dólares. Nesse caso, a Associados poderia ir à falência, levando consigo o Comercial de Manhattan. Julius parecia não perceber isso. Pior, vendia ações a descoberto e comprava mais ouro.
Na quinta-feira, as tropas sírias recuaram. Bernard entrou em pânico. Temendo um final rápido para a guerra, voltou a pressionar Julius para liquidar as posições. Já estavam lucrando uma fortuna. Davish conseguiu o apoio de Alan Payne: também o chefe da Inteligência acreditava no fim da guerra.
Mas Julius estava convicto, tinha em mente as palavras de Abdul. “A partir de agora, quando pensar em petróleo, imagine o impossível”, dissera ele, há menos de um ano, na casa de Kennicot. Depositava enorme confiança em Abdul. Se o árabe previra um aumento de 400 ou 500%, era preciso apostar nisso. Se perdessem, paciência, teria sido coerente com o pensamento do sócio.
Foi a decisão mais acertada de sua vida. Ele e os homens do Sindicato foram os primeiros operadores do mundo a perceber o início de uma nova era. Os tempos da energia cara, da inflação mundial e do aumento das matérias-primas.
Os Estados Unidos passaram a auxiliar os judeus abertamente, enviando armas e munições. No dia 19 de outubro, Nixon anunciou uma ajuda de 2 bilhões e 200 milhões de dólares a Israel.
Em represália, os países árabes, reunidos no Kuwait, elevaram o petróleo em 70%, fixando-o em 5 dólares e 11 centavos. Decidiram também cortar a produção em 5% e continuar cortando 5% a cada mês subseqüente.
Em Nova York, Clarence, para desespero da mesa e de Alan Payne, lançou mão de mais empréstimos e determinou a Bernard a compra de mais petróleo em Roterdã.
Em Lausanne, Jean Lesneur fez o mesmo. Ordenou a Clive Maugh e ao chefe da mesa, Bruno D’Angelo, que aumentassem suas posições.
No dia 20, Abdul al-Kabar, obedecendo ao rei Faissal, cancelou todos os embarques de petróleo para os americanos. Na Líbia, o coronel Kadafi fez o mesmo.
Domingo, 21 de outubro de 1973. Julius Clarence passara o dia sozinho, avaliando o mercado, na biblioteca em Greenwich. Refletira sobre sua posição. Se seus diretores e funcionários, seus concorrentes, a imprensa e as autoridades soubessem de sua sociedade com os árabes, seria considerado um traidor. Fez uma autocrítica, um exame de consciência: era apenas um homem de mercado, nada tinha a ver com os acontecimentos. Cabia a ele apenas interpretá-los para tomar suas decisões.
Dessa vez, não contava com Alan Payne. Este não acreditava em um embargo sustentado do petróleo, o Ocidente não iria permitir. Mas Julius conhecia e respeitava Abdul al-Kabar. Por isso, decidira manter suas posições.
Além da guerra e da crise dos combustíveis, havia algo mais para justificar um agravamento da crise. Na véspera, Nixon havia exonerado o promotor público Archibald Cox, responsável pelas investigações do caso Watergate.
Ao cair da tarde, Antoine conduziu Julius e Jessica à Liberty Tower. Subiram para a suíte. Clarence conversou com Davish, em Roterdã, e com Payne, em Ridgefield. Seus homens, embora discordando do patrão, estavam a postos. Alan atento ao noticiário; Davish operando no mercado spot.
Julius acompanhou a abertura em Tóquio. Falou, um a um, com os mercadores noturnos, inclusive com Clive Maugh. Depois, não satisfeito com os enormes riscos assumidos até aquele momento, passou a vender ações de empresas americanas, a descoberto.
Foi o primeiro a apostar na queda de Richard Nixon.
Com o passar dos dias, Israel, abastecido pelos americanos, virou a guerra. Encurralou o terceiro exército egípcio no Sinai.
Assim como os Estados Unidos não aceitaram antes uma derrota de Israel, os soviéticos não admitiam, agora, uma capitulação egípcia. Brezhnev deixou isso bem claro em um comunicado a Henry Kissinger. Pára-quedistas soviéticos foram colocados de prontidão, para serem lançados em socorro dos egípcios. Agentes ocidentais, localizados no estreito de Dardanelos, captaram emissões de nêutrons procedentes de cargueiros soviéticos em rota para o Mediterrâneo.
As Forças Armadas americanas entraram em estado de prontidão DefCon 3. Tal como na crise de Cuba, 11 anos antes, mais uma vez o mundo se via às voltas com a ameaça de uma crise nuclear. Agora com um presidente americano enfraquecido por Watergate.
Temendo a entrada da União Soviética no conflito, Israel terminou por assinar um cessar-fogo com o Egito. A guerra no Sinai estava encerrada.
Em todo o mundo, os operadores apressaram-se em liquidar suas posições de ouro e petróleo.
Em Lausanne, Otto Behr recomendou a seus colegas do Sindicato a manutenção das posições. Em Nova York, Clarence adotou a mesma postura, para completo desespero de Davish e Payne.
Apesar do fim da guerra, o embargo continuou. O Ocidente encarou melancolicamente a recessão e o racionamento. O preço do barril continuou subindo.
Wall Street passou a ver em Julius Clarence uma auréola de infalibilidade. “Será que não erra nunca?”, indagavam uns aos outros.
Bernard retornou de Roterdã. Voltou a seu lugar à mesa de operações e, junto com Alan Payne, rendeu tributos ao patrão.
Em novembro, o petróleo atingiu 16 dólares. Perto do Natal, o xá do Irã, Reza Pahlevi, determinou a realização de um leilão para testar o mercado. Pagaram 17. Nos primeiros dias do inverno, uma trading japonesa comprou petróleo nigeriano por 22 dólares.
“Quinhentos por cento”, dissera o beduíno Al-Kabar.
Naqueles momentos decisivos, Abdul voltou a demonstrar equilíbrio e sabedoria. O patamar de 20 dólares parecia-lhe absurdo. Provocaria recessão mundial e terminaria por ser nocivo a eles mesmos, produtores. Os consumidores iriam recorrer a novas fontes de energia, perfurar poços em águas profundas, construir usinas nucleares e fabricar carros econômicos. Procurariam depender o mínimo possível da OPEP.
Mas as advertências de Al-Kabar foram em vão. A ganância se apoderava dos produtores.
A alta do petróleo multiplicara a fortuna de Julius Clarence. Ao final de 1973 havia saldado todas as suas dívidas. Naquele ano, perdera sua participação na cadeia Bars, mas, por outro lado, fizera da Clarence & Associados e do Banco Comercial de Manhattan duas grandes instituições financeiras, altamente capitalizadas.
Clarence tinha 33 anos e já colecionava duas ex-mulheres.
Claire Kellegher, com a morte do pai, herdara sua fortuna. Produzia agora musicais para a Broadway. Francine tivera alta e retornara à França.
Julius casara-se com Jessica. Moravam na cobertura do parque enquanto a mansão de Greenwich passava por uma completa reforma, na qual seriam acrescentadas novas alas.
Os primeiros sinais da ação do tempo davam a sua fisionomia um toque de circunspecção. Restavam agora poucas semelhanças com o garoto do armazém da Avenida Utah, em Davenport.
O inverno começara. Em Lausanne, Clive Maugh encontrava-se em seu apartamento, reclinado em sua poltrona preferida. Ocupando a austera e espaçosa sala, apenas ele, os acordes de piano do Carnaval, de Schumann, e uma grande quantidade de revistas pornográficas. No jornal em sua mão, mais uma reportagem sobre Julius Clarence.
Como se regasse uma planta de estimação, Maugh cultivava seu ódio pelo americano.
Não era a única pessoa do mundo a ocupar-se de Julius Clarence. Em seu gabinete no Capitólio, o senador Rutger Olen, representante da Geórgia, percorria com os dedos uma relação com os nomes de seus 99 pares.
Olen analisava mentalmente cada um deles. Precisava saber com quantos poderia contar para conseguir aprovar sua moção, convocando o megaespeculador Julius Clarence a explicar suas atividades no mercado de petróleo em prejuízo dos Estados Unidos da América.
QUARTA
PARTE
CAPÍTULO 55
Nunca houvera uma expectativa tão grande antes da abertura dos mercados como naquele domingo. O bilionário Julius Clarence continuava desaparecido, seu segundo homem, Bernard Davish, suicidara-se no metrô de Nova York e o medo se apoderara dos especuladores e investidores durante o fim de semana.
A hora H estava inexoravelmente marcada para as 9h30 da manhã de segunda-feira em Tóquio, correspondente à 1h30 na Cidade do Cabo, meia-noite e meia em Paris, Frankfurt, Milão e Zurique, 11h30 da noite de domingo em Londres, 7h30 em Nova York, 6h30 da tarde em Chicago e 3h30 em Vancouver.
Nesse exato momento, quando soasse a campainha na Bolsa de Valores de Tóquio, também começariam a funcionar os mercados eletrônicos. Nesses, através dos terminais de computadores, profissionais espalhados pelos 24 fusos horários voltariam a negociar índices futuros de ações, moedas dos países mais importantes, obrigações dos governos e metais preciosos. Estariam também abertos os mercados interbancários, onde bilhões de dólares mudavam de mãos em questão de segundos.
Aquela noite era especial. Até então, mesmo nas grandes crises, sempre houvera ganhadores e perdedores. Assim fora em julho de 1914 ao estourar a Primeira Guerra Mundial, no crash de outubro de 1929, no ataque cardíaco do presidente Eisenhower, nas guerras da Coréia e do Vietnã, no assassinato de Kennedy, nas crises do petróleo causadas pelas guerras de Suez, dos Seis Dias e do Yom Kippur, na inflação dos anos 70, na crise dos reféns americanos em Teerã, no crash de outubro de 1987, na invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein e no golpe militar contra Gorbachev.
Fora também assim, pouco mais de um ano antes, no dia da explosão no Eurotunnel.
Dessa vez os acontecimentos haviam fugido ao controle das autoridades e dos dirigentes das bolsas. Desde a tarde de quinta-feira, quando o megaespeculador Julius Clarence desaparecera misteriosamente e o Índice Industrial Dow Jones desabara 2.000 pontos apenas na última meia hora de pregão, ninguém conseguia se entender. O mercado estava sendo movido pelo pânico, não pela razão.
Durante o fim de semana, as cabeças puderam esfriar e os bancos centrais haviam tomado decisões importantes em defesa dos investidores. Restava aguardar a abertura. “Tudo voltaria ao normal”, diziam os otimistas. “Apenas mais uma crise”, insistiam nervosamente. Todos torciam por isso.
Mas, individualmente, as coisas se passavam de maneira diferente. Cada um dos atingidos pelo turbilhão provocado pela Clarence & Associados planejava o mesmo: vender dólares, obrigações do governo americano e ações, principalmente ações. Com o produto da venda, comprariam metais preciosos, ienes japoneses, marcos alemães, contratos futuros de petróleo e outros ativos seguros, para proteger seu dinheiro até o fim da crise.
Todos, pequenos e grandes investidores, especuladores, empresários, banqueiros e administradores de fundos, aguardavam, em lenta agonia, a hora H.
Nem os velhos mercadores da noite alimentavam ilusões. Limitavam-se a olhar tristemente para seus terminais, à espera da abertura. O mercado nunca mais seria o mesmo, sabiam. Mas não nutriam rancores contra Julius Clarence, apenas curiosidade. Onde estaria o velhaco irlandês?
Em Kansas City, às 5h15 da tarde, Mark Richardson cumpria sua rotina de trabalho na Trans Globe Market News. Competia-lhe selecionar, entre as notícias recebidas dos diversos monitores à sua frente, aquelas de interesse dos assinantes da Trans Globe, em sua maioria profissionais de mercado. Ato contínuo, precisava resumi-las em frases curtas e digitá-las rápido, fazendo-as chegar, em poucos segundos, aos milhares de terminais espalhados pelas mesas de operações em todo o mundo, de preferência antes dos concorrentes.
Graças à eficiência de funcionários como ele, a Trans Globe ocupava o primeiro lugar no ranking das agências noticiosas especializadas no mercado financeiro. Richardson lia a notícia, avaliava sua importância e, se fosse o caso, fazia um resumo, com no máximo 60 toques, para os assinantes.
Aquele dia era especial para Mark. Ao final do expediente, iria receber 50 mil dólares. Para fazer jus a tanto dinheiro, precisava apenas digitar, exatamente às 5h30 da tarde, a frase “Naufrágio nas coordenadas 41°44’ Norte 50°24’ Oeste”.
Foi o que fez, exatamente nessa hora, ignorando ser aquela posição geográfica o ponto exato em que o Titanic colidira com um iceberg na noite de 14 de abril de 1912.
Após certificar-se de haver digitado os caracteres corretamente, continuou seu trabalho, extremamente movimentado naquele dia, ao contrário dos outros domingos.
Finalmente chegou o momento temido por todos. Nos cinco continentes, os homens se aproximaram de suas telas. Ignoraram uma notícia sem importância, algo sobre um naufrágio, estampada um pouco abaixo das colunas de cotações nos terminais da Trans Globe.
No exato instante da abertura dos negócios, o vírus Titanic, criado e desenvolvido pelo gênio do paquistanês Mohamed Ahsan, atacou.
Durante longos meses, o Titanic se disseminara por discos rígidos, cd-roms e estradas eletrônicas. Infiltrara-se nos mais sofisticados sistemas e programas, viajara por modems, linhas telefônicas e canais de fibras óticas, passeara, invisível, pelos milhões de terminais da internet.
Quando, nos monitores de cotações e de notícias, surgiram os 46 caracteres digitados por Mark Richardson em Kansas City, o mortífero Titanic encerrou sua longa fase de proliferação e, obedecendo a Julius Clarence, instaurou o caos no mercado.
CAPÍTULO 56
O professor Tartuf Zardil sacudiu o ombro do paciente.
– Está na hora, senhor Clarence. Preciso prepará-lo para a cirurgia.
Julius despertou imediatamente.
– Por favor, sente-se nesta cadeira – disse o médico. – Recline a cabeça para trás. É uma posição desconfortável, mas não vai demorar muito.
Zardil começou logo a trabalhar. Usando, primeiro, uma máquina elétrica e, depois, uma navalha, raspou uma estreita faixa de cabelo, no sentido de uma orelha a outra, deixando intactas as duas extremidades. Fez tudo rapidamente, com grande habilidade. Uma semana depois, a região raspada só seria perceptível quando vista de cima.
A seguir, entregou a Clarence um sabonete desinfetante.
– Tome um banho – ordenou. – Esfregue bem o rosto, o cabelo e as orelhas. Quando terminar, não vista nada sobre o corpo. Me chame, por favor.
Alguns minutos depois, Julius, as primeiras medidas de assepsia terminadas, recebeu e vestiu um camisolão e pantufas de pano. Seguiu Zardil até a sala de operações.
A pedido do cirurgião, deitou-se sobre a mesa. O médico amarrou um elástico ao redor de seu braço e explicou:
– Vou aplicar-lhe uma dose de meperidina combinada com adrenalina. A meperidina é um sedativo forte, à base de morfina. A adrenalina serve para diminuir o sangramento. Quando o senhor estiver dormindo, não vai demorar muito, aplicarei anestésicos nos locais onde irei trabalhar. Não sentirá nada, senhor Clarence. Quando acordar, tudo estará terminado.
Antes de o medicamento surtir efeito, Zardil pediu ao paciente para deslocar-se por sobre a mesa, de modo a ficar com parte da cabeça pendente do lado de fora. Lavou novamente os cabelos. Finalmente, deu-se por satisfeito com a assepsia.
O mais seguro seria uma raspagem geral. Mas não era um procedimento incomum raspar-se o mínimo possível. Pessoas que se submetem a plásticas não gostam de sair carecas do hospital. Em outras épocas, quando operava em Zurique, o professor recebia seus pacientes já preparados pelas enfermeiras. Agora, era preciso fazer, ele mesmo, todo o trabalho.
Aos poucos, a visão de Julius foi se tornando turva. Mal percebeu quando o professor deixou a sala. Já dormia profundamente quando ele retornou, tendo as mãos enluvadas e vestindo um capote esterilizado. Também não manifestou nenhuma reação quando Zardil acendeu as luzes sobre a mesa, conectou a seu corpo os terminais do monitor eletrocardiográfico e fixou ao dedo médio de sua mão direita um pregador com uma célula fotoelétrica, para calcular o nível de saturação de oxigênio no sangue.
Ato contínuo, o cirurgião isolou os cabelos do paciente com panos e esparadrapos, deixando à mostra apenas o estreito retângulo correspondente à parte raspada anteriormente. Puxou uma mesa de Mayo por sobre o corpo estendido, deixando-a à altura do peito. Retirou dela uma seringa e aplicou a primeira anestesia local, diretamente no couro cabeludo.
– Aahh... – Julius gemeu na hora da picada.
O médico inseriu todo o conteúdo da seringa. Ergueu, em seguida, a parte da mesa operatória correspondente à cabeça. Esperou alguns minutos e, com um bisturi, espetou o local para certificar-se do efeito do anestésico.
Clarence não esboçou nenhum som ou movimento. O cirurgião começou, então, sua longa jornada de trabalho.
Fez, primeiro, uma incisão coronal para levantar o couro cabeludo. O sangue escorreu. Pinçou alguns vasos rapidamente e limpou o local com uma compressa de gaze. Com uma das mãos, manteve a parte dianteira do couro levantada, e, com a outra, introduziu uma tesoura. Cortou os folículos pilosos correspondentes ao local onde precisaria criar uma entrada de calvície. Usando outro tipo de pinça, retirou da parte levantada do couro cabeludo, por baixo, os fios de cabelo correspondentes aos folículos destruídos. Depois de certificar-se de que tudo estava certo, usou um grampeador cirúrgico para fechar a incisão.
Após uma rápida limpeza, colocou um curativo, tampando os grampos e o restante do cabelo, de maneira a não permitir que nenhum fio viesse a cair e contaminar os próximos campos operatórios. Mudou novamente a posição da mesa e começou a trabalhar no nariz, ao qual aplicara outra anestesia, antes de completar o trabalho anterior.
Com um afastador, dilatou ao máximo uma das narinas. Curvando-se para enxergar melhor o interior da cavidade nasal, iluminado pela lanterna cirúrgica presa a sua cabeça, Zardil fez a segunda incisão do dia. Trabalhou com extrema habilidade, usando um instrumento em forma de cunha para escavar as cartilagens alares. Depois, com um escopro, fraturou a pirâmide nasal e modelou o novo nariz subtraindo uma pequena camada de osso. Afastou a outra narina para arrematar o trabalho e suturou.
Após a segunda intervenção, o operador verificou os monitores e examinou o trabalho já feito. Parou por alguns minutos, para descansar as costas, doídas devido ao trabalho no nariz. Passou à próxima tarefa. Rapidamente, com confiança, fez um corte minúsculo entre as duas sobrancelhas e, usando um termocautério acionado por pedal, cauterizou os folículos correspondentes às partes mais internas. Depilou os pêlos externos correspondentes, conferiu tudo e fechou as duas incisões. Foram necessários apenas dois pontos em cada uma delas.
Clarence soltou um gemido. O professor aplicou mais sedativo e alterou, mais uma vez, a posição da mesa. Passou às orelhas. Fez um corte na junção de uma delas com a cabeça e descolou a pele. A falta de um auxiliar tornava a tarefa extremamente difícil. Foi preciso trabalhar com apenas uma das mãos, usando a outra para fazer o afastamento. Retirou uma fatia da cartilagem conchal e a pele correspondente. Fez uma sutura intradérmica, para não deixar cicatriz. Girou a mesa em torno de seu eixo maior e repetiu tudo do outro lado.
Terminadas as orelhas, o médico verificou se não havia sangramento nas cirurgias anteriores e começou a tarefa mais difícil: a intervenção na boca. Colocou um afastador odontológico e fez uma incisão no lado direito, na junção da gengiva com a bochecha, em cima. Chegara o momento com o qual se preocupara tanto. Precisaria prender com fio de aço, sem um assistente para manter aberto o campo cirúrgico, as próteses aloplásticas sobre os ossos malares.
Dessa vez, o professor não conseguiu desenvolver o processo. Tornou-se impossível afastar e operar ao mesmo tempo. Costurou o corte. Faria o trabalho mais tarde, com o auxílio do próprio paciente, quando cessasse o efeito do sedativo. Manteve o afastador, abriu a parte superior interna do lábio e colocou a prótese labial. Para isso, levou apenas alguns minutos.
Restavam ainda a voz, os olhos, as impressões digitais e a simulação da apendicectomia.
Tartuf começou a temer um insucesso. Já trabalhava há três horas, sem parar. Sentia vontade de tomar um trago, esforçava-se para conter o tremor das mãos. Sem ninguém para limpar o suor de sua fronte, abaixou a cabeça e a esfregou no lençol para secá-la. Olhou para suas mãos. Elas agora tremiam visivelmente. Despiu-se das luvas e do capote cirúrgico e desceu ao térreo.
Lá embaixo, tomou um copo de vinho do Porto. Recuperou o autodomínio imediatamente. Tomou outro. Voltou rapidamente para cima, colocou novas vestimentas, examinou o paciente e os monitores e suspirou aliviado.
Sob o efeito do vinho, passou a trabalhar melhor. Colocou a mesa na posição horizontal e fez um corte no pescoço, dois dedos abaixo do pomo-de-adão. Lesou um dos nervos laringo-recorrentes e fez a sutura intradérmica.
De tempos em tempos, Zardil verificava, nos monitores a sua frente, os sinais vitais do paciente: pressão arterial, freqüência cardíaca e dosagem de oxigênio na corrente sangüínea. De acordo com o local de cada intervenção, o cirurgião deslocava para cima e para baixo a mesa de Mayo, contendo os bisturis, tesouras, pinças hemostáticas, porta-agulhas e fios de sutura. Cada instrumento utilizado era imediatamente descartado em um recipiente ao lado da mesa.
Zardil trabalhava rápido. Em uma hora, introduziu lentes internas, de cor castanha, nos olhos de Julius Clarence. Fez rapidamente as suturas com uma ponteira a laser e cobriu os dois olhos com tampões.
O professor programou seus próximos passos. Esperaria dissipar-se o efeito do sedativo. Então, o próprio paciente ajudá-lo-ia na fixação das próteses nos malares. Enquanto isso, trabalharia nos dedos e no abdômen.
Levou três horas para alterar as digitais. Manipulando lentes, instrumentos minúsculos e usando ácido, subtraiu alguns traços das antigas impressões e construiu outros, de acordo com o modelo em uma tela de computador à sua frente. A cicatriz na barriga foi feita em poucos minutos. Enquanto modelava seu novo homem, cessou o efeito do sedativo.
Julius agitou-se, pronunciando palavras desconexas, gemendo com as dores das outras cirurgias, cujas anestesias locais iam perdendo o efeito sucessivamente.
– Senhor Clarence, fique quieto – comandou o médico, energicamente. – Não estrague meu trabalho.
Foi o que bastou para Julius conter-se, apesar da semiconsciência.
Só quando despertou por completo de seu sono químico, Zardil explicou-lhe o problema da boca.
– Vou precisar de sua ajuda, não dá para colocar as próteses e afastar a pele ao mesmo tempo.
Apesar da dor, Clarence, ainda desorientado pela ação da meperidina, os olhos vendados e visivelmente contrafeito, viu-se obrigado a segurar duas pinças, mantendo aberta a cavidade no interior da boca e permitindo a Zardil fixar com fio de aço as próteses aloplásticas.
Com o campo aberto, o professor fez seu trabalho sem dificuldades. Completou a última sutura, conduziu Julius até a cama e aplicou-lhe uma forte dose de sedativo. Só quando o paciente entrou em sono profundo Zardil pôde limpar a sala de operações, tomar um terceiro copo de vinho e fumar um cigarro. Olhou o relógio. Cinco da tarde.
Estivera trabalhando durante oito horas seguidas. Seria preciso, agora, acompanhar o pós-operatório. Tentou comer um sanduíche. Não conseguiu. Bebeu então um café forte e preparou-se para a vigília da noite, tranqüilo. Exultante também.
Embora o fato nunca viesse a ser registrado nos anais, o professor Tartuf Zardil sabia que, pela primeira vez na história da Medicina, um cirurgião fizera a cópia externa de um homem.
Para concluir seu trabalho, injetou em Clarence a primeira dose de hormônio para escurecer o tom da pele.
CAPÍTULO 57
Na primeira hora de mercado, o Índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu 5 mil pontos, a maior queda de todos os tempos. Simplesmente, não havia compradores.
A Bolsa de Valores de Nova York só abriria às 9h30 da manhã, hora da Costa Leste. Mas o Índice Standard & Poors futuro, para junho, representativo de 500 ações daquela bolsa, encontrava-se trancado no limite de baixa no mercado eletrônico.
Na mesa de operações do Banco da Reserva Federal, o habitualmente fleumático chairman Arnold Sinclair, em pessoa comandando as operações noturnas, parecia um possesso.
– Precisamos impedir, a qualquer custo, a queda do dólar – gritou ele aos operadores. – Usem nossas reservas. Não admito que o dólar caia um ponto sequer. Vendam marcos, vendam ienes, vendam ouro, qualquer quantidade, entenderam?
O pessoal não estava habituado a falar diretamente com o chairman. Para isso, havia a cadeia de comando. Sinclair raramente aparecia na mesa. Quando o fazia, era para mostrá-la a um visitante estrangeiro. Sua presença impedia que trabalhassem à vontade, como se não bastassem os problemas daquela noite terrível.
– Doutor Sinclair – explicou, agoniado, o veterano chefe da mesa. – Os computadores estão rejeitando as ordens de compra de dólares. Simplesmente, eu nunca vi isto antes, não obedecem ao nosso comando.
Já há alguns anos, as operações de câmbio haviam deixado de ser efetuadas por telefone. Sem o auxílio dos computadores, tornava-se impossível para a Reserva Federal defender o dólar.
Na sessão noturna da Bolsa de Chicago, as obrigações do Tesouro dos Estados Unidos também se encontravam no limite de baixa.
– Vendo no limite – urravam uníssonos os operadores, as jaquetas coloridas suadas, mais por angústia do que pela temperatura ambiente.
O ouro subira 100 dólares em relação ao preço da quinta-feira, quando os mercados foram interrompidos. No mercado de prata e de platina, não havia oferta de venda. Finalmente, no pregão eletrônico de petróleo, o preço do barril já subira 5 dólares, a maior alta em um só dia desde a invasão do Kuwait em agosto de 1990.
Só muito tempo depois, os analistas vieram a entender por que, naquela noite, os ativos tinham se movido, uns para cima, outros para baixo, com tanta violência.
Ao longo dos anos, uma extensa rede de defesas eletrônicas fora edificada para proteger o sistema. Os computadores eram programados para todas as situações. Compensariam a fragilidade dos humanos, operando sem pânico, comprando os ativos quando estivessem despencando, vendendo-os quando disparassem. Mas, naquela noite, as defesas haviam sido eliminadas pelo Titanic.
O vírus afetara também as bolsas nas quais eram negociados os mercados futuros. Sua ação predatória destruíra seus programas de proteção. Nesses mercados, onde se pode comprar e vender coisas inexistentes, em quantidades gigantescas, é preciso depositar margens. Elas protegem o sistema. Os computadores elevam as margens nos momentos de grande risco e liquidam automaticamente as posições perigosas.
Os profissionais levaram mais de meia hora para perceber a verdade: a sabotagem partia dos próprios computadores. Estavam diminuindo as margens, em lugar de aumentá-las. Colocavam à venda ativos em queda livre, adquiriam produtos já excessivamente caros.
Os operadores eram indefesos contra seus computadores. Há muitos anos serviam-se deles para a tomada de decisões. Sem eles, nem mesmo conseguiam visualizar o mercado. As máquinas traçavam os gráficos, interpretavam as oscilações, calculavam as médias móveis, os deltas, as volatilidades.
A avalanche cibernética, há muito, liquidara o sentimento de percepção dos profissionais. Os computadores decidiam qual a hora exata de comprar e vender. Não era possível, assim, de repente, de improviso, deixá-los de lado e voltar a tomar decisões individuais.
Desde meninos, aquela geração da virada do milênio gregoriano respirava eletrônica. Mesmo nas brincadeiras, com seus videogames, jogos de computador, discos de CD-ROM e terminais das estradas eletrônicas, eram regidos por megabytes, não por seus próprios neurônios. Não tinham defesas contra o Titanic de Mohamed Ahsan.
Pouco antes do meio-dia em Tóquio, madrugada na Cidade do Cabo, Paris, Zurique, Milão, Frankfurt e Londres, noite de domingo em Nova York e Chicago e fim de tarde em Vancouver, todos já sabiam: o sistema fora liquidado.
As bolsas, as operações eletrônicas e o mercado interbancário foram fechados. Os homens retornaram a suas casas.
Os mercados foram suspensos por uma semana. Quase todos os países decretaram feriados bancários. O Grupo dos Nove, composto dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, Itália, Rússia e China, foi convocado para uma reunião em Paris.
Os nove chefes de governo chegaram ao Louvre, local da reunião, acompanhados de seus secretários e ministros de Finanças e dos presidentes dos bancos centrais. Deliberaram por 72 horas, enquanto o mundo esperava agoniado.
Ao final do encontro coube ao anfitrião, o presidente Jean Sologne, resumir a principal decisão.
– Decidimos criar um novo padrão monetário para as moedas, novamente lastreadas em ouro, tal como em Bretton Woods, em 1944. Não se trata de um retrocesso – apressou-se em justificar, na coletiva transmitida ao vivo para mais de 100 países. – Mas de uma medida acauteladora, extrema e corajosa, para salvar nossas economias de um desastre.
Os governantes retornaram a seus países para implantar o novo sistema.
O presidente Michael Dale remeteu ao Congresso, para votação em regime de urgência, um severo programa de aumento de impostos e diminuição dos gastos públicos. O Comitê de Mercado Aberto do Banco da Reserva Federal aumentou as taxas de juros para fortalecer o dólar. O Tesouro emitiu duas novas séries de obrigações, uma indexada à cotação do iene japonês e a outra lastreada nas reservas de ouro de Forte Knox.
Em Estrasburgo, o Parlamento Europeu recebeu poderes dos países membros da Comunidade Européia para adotar medidas amargas. Cortou benefícios sociais, aumentou a idade para aposentadoria dos cidadãos, elevou os impostos e eliminou os subsídios agrícolas.
As decisões não foram bem aceitas. Multidões enfurecidas protestaram nos Champs-Elysées, em Trafalgar Square e nas ruas de Milão, Madri e Frankfurt. Agricultores bloquearam as estradas da França, os tratores invadiram Paris. Um plantador de beterrabas jogou uma bomba no túmulo de Bonaparte, nos Invalides, danificando severamente o mármore vermelho do mausoléu. Em Hamburgo, neonazistas incendiaram uma sinagoga.
Em Moscou, o presidente Aleksei Samusev determinou a aceleração do programa de privatização e mandou reduzir em um quarto os efetivos do exército convencional. O rublo foi desvalorizado em 50%.
Os japoneses e chineses relutaram, mas acabaram concordando em valorizar o iene e o renmimbi e taxar as exportações, a fim de reduzir os superávits comerciais dos dois países.
Iniciou-se a depressão econômica.
Em Lausanne, o Comitê Diretor do Banco Centro-Europeu, fiel zelador das grandes fortunas, do patrimônio dos ditadores, do narcotráfico e de todo o crime organizado, guardião até mesmo do santo dinheiro das igrejas, foi dissolvido. Seus membros fugiram da cidade e do país, cada um deles temendo a terrível vingança quando os titulares das carteiras soubessem da verdade: o Sindicato estava falido, irremediavelmente falido.
Clive Maugh, ao contrário de seus colegas, não pretendia abandonar a cidade. Em seu espaçoso apartamento, ouvia música e recebia putas. Aos montes. Todas se encontravam lá.
Às gargalhadas, o olhar esbugalhado, o inglês atirava-lhes cédulas de 100 francos. Bastava se exibirem, nuas, esfregando-se umas nas outras, enquanto ele se masturbava, o pênis para fora da calça azul-marinho, o ritmo da mão em descompasso com os violinos das Danças húngaras, de Brahms, que ouvia pela última vez.
A cápsula de veneno em seu estômago, em breve, se dissolveria.
Em seus últimos momentos, a mente desconexa misturava as putas, o som dos violinos e uma luz âmbar, iluminando seus gráficos de mercado em queda para o abismo.
CAPÍTULO 58
Não fossem os pequenos curativos nas pontas dos dedos, uma ligeira inchação no nariz e duas leves manchas arroxeadas nas faces, um pouco abaixo dos olhos, seria difícil afirmar que aquele homem a examinar-se diante do espelho da clínica em Anderlecht, o neozelandês Jack Palmer, há apenas 10 dias, passara por uma completa cirurgia plástica.
Jack sentia-se cansado. Nos últimos dias, enquanto se recuperava da operação, treinara exaustivamente o sotaque da Nova Zelândia, onde, há pouco mais de 50 anos, Palmer nascera, no lado leste da ilha do Sul.
Vários CDS haviam chegado pelo correio à clínica de Zardil. Estudando-os, um antigo caipira de Davenport, Iowa, Estados Unidos da América, transformava-se no agrônomo Jack Palmer.
Entre Julius Clarence e Jack Palmer havia uma identidade intermediária. Sob o nome de Peter Miller, cidadão canadense, nascido e residente em Toronto, o homem mais procurado do mundo pretendia viajar de Amsterdã para a China. De lá, já então com sua identidade final de Jack Palmer, seguiria para o Caribe, ao encontro de Valérie Toulon, em Saint-Barthélemy.
Nenhum neozelandês morava em Saint-Barth, já se certificara disso. Mas não desejava correr riscos, após tanto trabalho e sacrifício. Por isso, tentava adaptar-se rapidamente ao novo sotaque e esquecer por completo a voz e o jeito de falar de Julius Clarence. Exercitara também sua nova caligrafia. Desde a cirurgia, não assistira à televisão nem lera os jornais. Dedicara-se exclusivamente à sua recuperação e ao aprendizado da nova maneira de falar e escrever.
A empregada contratada pelo professor para cozinhar para os dois já fora dispensada. Assim, Jack, ou melhor, Peter, podia circular livremente pelos dois andares da clínica.
Pretendia partir no dia seguinte. Alguns dias depois, Tartuf Zardil se retiraria para Kusadasi e suas águas azuis.
Peter terminou seu exame e desceu para conversar com o doutor, que preparava o jantar no andar térreo. Mal dobrou a escada, viu-o deitado no chão, ao lado de seu gato, os olhos esbugalhados, o peito arfando. Correu para socorrê-lo. O velho tentava alcançar uma das cápsulas espalhadas a seu redor. Miller pegou duas delas, colocando-as sob a língua de Tartuf, que se aquietou; seus olhos se imobilizaram. Jack comprimiu seu peito, fez respiração boca a boca, não sabia exatamente quais os procedimentos corretos. Procurou o catálogo de telefone. Seria preciso chamar uma ambulância.
Então percebeu: o cirurgião plástico Tartuf Zardil estava morto.
Aquilo apressava tudo. Palmer sentou-se na poltrona, junto ao corpo. Colocou as idéias em ordem. Ninguém poderia ligar a morte do cirurgião, por causas naturais, a um bilionário americano desaparecido, ou a um canadense de Toronto, chamado Peter Miller, e, muito menos, a um agrônomo da Nova Zelândia, de nome Jack Palmer, cuja identidade o próprio Tartuf Zardil desconhecia.
Precisava agir sem perda de tempo. Deixou o corpo no local onde morrera e voltou ao andar de cima. Colocou suas roupas, objetos pessoais e as fitas com as falas de inglês da Nova Zelândia na maleta. Procurou, durante algum tempo, e encontrou o disco de CD-ROM com os dados de Jack Palmer. Colocou-o na maleta para descartá-lo mais tarde. Pesquisou o disco rígido do computador. Não encontrou nada comprometedor. Deletou todos os arquivos, desligou a máquina e percorreu demoradamente os cômodos em busca de algo suspeito. Nada.
Vestiu suas roupas, colocou luvas para encobrir as pontas dos dedos ainda enfaixadas, abriu a porta da rua e saiu para a noite escura. Deixou a porta propositadamente escancarada. Certamente, alguém perceberia a casa aberta e chamaria a polícia. Os tiras encontrariam o corpo do professor, fariam uma autópsia e descobririam que a morte havia sido natural. A justiça daria um destino aos móveis, utensílios e aparelhos médicos. Provavelmente, apodreceriam por anos em um depósito público à espera de algum herdeiro.
Palmer percorreu várias quadras, até a estação do metrô. Pegou a primeira composição e seguiu para a Gare du Nord. Chegando à estação, desceu ao subsolo e, no guarda-volumes, retirou a mala comprada por Julius Clarence, no shopping center do Queens, em Nova York, na qual colocara, 12 dias antes, os documentos e objetos de uso pessoal de Peter Miller.
Comprou diversos jornais e revistas. Saiu à rua e dirigiu-se ao Hotel President. Na recepção, preencheu a ficha, sem tirar as luvas, disfarçando a caligrafia. Subiu ao quarto e solicitou uma garrafa de vodca. Só então soube dos acontecimentos no mercado.
Com exceção da morte do professor, tudo correra exatamente como previra.
Peter Miller foi subitamente tomado por uma sensação infinita de euforia.
CAPÍTULO 59
O piloto fez o procedimento usual para pousar no Aeroporto Saint-Jean. Contornou a colina das Tormentas e virou a proa para leste, na direção da enseada. Passou rente ao mato e à curva da estrada. Tão logo ultrapassou a elevação, pressionou o manche para a frente, baixou os flaps, para dar mais sustentação ao pequeno bimotor, e mergulhou em ângulo crítico, na direção da pequena pista. Mal arredondou e tocou o pavimento, freou bruscamente. Caso contrário, terminaria com o bico espetado na areia, 500m adiante, como acontecia com freqüência ali em Saint-Barthélemy.
De sua casa, Valérie ouviu o barulho dos motores. Seu coração bateu forte.
Nos últimos dias haviam surgido visitas inesperadas: jornalistas, policiais franceses, agentes da Interpol e, até mesmo, investigadores particulares. A princípio, recusara-se a recebê-los, à exceção dos policiais. Depois, concluíra que a única maneira de fazê-los ir embora era atendê-los.
– Nada mais tenho a ver com Julius Clarence – explicava irritada. – Foi meu patrão e amigo, mas, atualmente, desconheço seu paradeiro.
Sentia-se atemorizada. Com tanta gente no encalço de Julius e com tantas reportagens a seu respeito nos jornais e nas revistas, mesmo ali, em Saint-Barth, dificilmente seu disfarce seria bom o suficiente para enganar a todos. Assim, quando ouvia o ronco do bimotor, ficava em dúvida se queria ou não que ele estivesse a bordo.
Pouco depois da chegada do avião, um táxi parou junto à casa. Da janela, Valérie viu o passageiro pagar e dispensar o motorista. Certamente, mais um jornalista ou policial, pensou. Estranhou o fato de o homem não deixar o táxi esperando, como faziam os outros. Pelo visto, o desconhecido pretendia demorar-se. Decidiu despachá-lo rapidamente. Não se via obrigada a dar explicações a todo mundo.
Subitamente, a idéia lhe veio à cabeça: Julius! Não. Ela agora via o homem nitidamente, enquanto ele se aproximava da casa. Aguardou o som da campainha e abriu a porta. Foi a primeira vez que viu Jack.
Palmer sabia que, se conseguisse enganar Valérie, sua transformação teria sido um êxito. Aguardou ansioso a abertura da porta.
– Senhorita Toulon?
– Sou eu mesma. Se está procurando Julius Clarence, vai ter que entrar na fila.
CAPÍTULO 60
Foi difícil convencê-la. Jack precisou recorrer a detalhes da vida de ambos, minúcias das quais só os dois tinham conhecimento, para fazê-la ver que era mesmo seu Julius. Mais difícil ainda foi o relacionamento dos primeiros dias. Para Palmer, ali estava a Valérie de sempre. Para ela, tornava-se complicado. Era como se um perfeito estranho entrasse em sua vida, se instalasse em sua casa e reclamasse seu amor. Precisava acostumar-se à nova fisionomia, aos novos olhos, à tez morena, à nova voz. Levou tempo.
Finalmente, Jack conseguiu. Só então se entregaram a um relacionamento pleno. Isso nunca acontecera antes, quando os encontros da aeromoça da Trans Atlantic com seu patrão, o magnata Julius Clarence, realizavam-se às escondidas.
Imediatamente, policiais, investigadores e jornalistas descobriram o novo habitante da casa. Fotografias foram tiradas de todos os ângulos e distâncias. Escutas foram implantadas. Palmer foi examinado e verificado.
Valérie era obrigada a policiar-se constantemente, para não chamá-lo de Julius. Para Jack, a maior dificuldade consistia na caligrafia. Evitava escrever, para não ter seus novos traços comparados com a antiga letra. Mas sabia ser impossível alguém provar que era Julius Clarence. Mais impossível ainda que não era o agrônomo neozelandês Jack Palmer.
Por determinação expressa do diretor Anthony Angiolillo, investigadores do FBI se deslocaram para a Nova Zelândia. Lá, verificaram que Jack Palmer havia nascido em Christchurch, em 1945, de rica família de criadores de carneiros. Filho único, formara-se lá mesmo, em Agronomia, em 1970, na Universidade de Canterbury.
Após a graduação, em lugar de trabalhar na fazenda dos pais, prestara concurso para as Nações Unidas. Fora contratado pela FAO e enviado primeiro à Índia, mais tarde à China, sempre na assistência técnica a agricultores. Aposentara-se recentemente. A ONU fora instruída a remeter sua pensão mensal de 4 mil e 500 dólares para Saint-Barthélemy.
Um testamento, registrado em um cartório de Auckland, mostrava que possuía obrigações da China e do Japão. Solteiro até então, seu patrimônio somava algo perto de meio milhão de dólares.
Outras investigações foram feitas na China, onde o agrônomo vivera nos últimos 15 anos, orientando plantadores de trigo no vale do Huai. Tudo foi confirmado. Impressões digitais de Palmer, impressas em documentos chineses, foram confrontadas com as do amigo de Valérie Toulon. Fotografias antigas foram examinadas.
O homem estava limpo. Nada tinha a ver com Julius Clarence. O casal foi deixado em paz.
Em Saint-Barth, Jack e Valérie nadavam nas praias, pescavam, faziam compras em Gustavia, passeavam pelas colinas e enseadas. Caminhavam horas na areia.
Nem mesmo esse exercício impedia Palmer de cultivar sua primeira e insistente barriga, resultado do ócio e da arte dos chefs dos quase 70 restaurantes locais.
Enquanto decidia se iniciava algum tipo de negócio para passar o tempo ou simplesmente vivia a vida, Jack inteirava-se da seqüela do desastre provocado por Julius Clarence no mercado.
Já eram decorridos três meses desde aquela quinta-feira, quando o magnata abandonara seus negócios e desaparecera misteriosamente, deixando o mercado órfão de seu talento e prisioneiro de suas próprias limitações.
Mais de 100 bancos haviam quebrado, entre eles alguns grandes e tradicionais. O movimento das bolsas e dos mercados futuros – os derivativos, como eram chamados nos últimos anos – reduzira-se a 20% do que era. Normas rígidas foram criadas. Margens de garantia elevadas impediam a alavancagem. Sem ela, os especuladores viam seus ganhos reduzidos, os corretores lutavam por migalhas.
Uma legislação complicada e exigente impedia o trabalho dos profissionais. Para tudo era necessário preencher formulários, prestar exames de qualificação, obter a aprovação dos advogados, estes, sim, os grandes vencedores da crise. O mercado vira-se vitimado por uma burocracia colossal.
Os bancos sofriam na mão de Denise Sanford, a aguerrida líder dos consumidores. Padecimento maior era destinado àqueles convocados a depor no Comitê de Investigação do Senado, no qual o senador Ben Doan garantia para si mesmo várias reeleições futuras, humilhando banqueiros, especuladores, corretores e administradores de fundos especulativos.
Várias religiões haviam sofrido grandes perdas com o colapso do mercado. Mais do que todas, a Igreja Católica de Roma amargava a maior crise financeira de sua história. O papa colombiano, Benedito XVI, recém-eleito pelo Sacro Colégio de Cardeais, decidira-se pelo leilão de diversas obras de arte do Vaticano para desespero dos bispos conservadores.
Com esse inédito processo de privatização, o papa tentava manter o fluxo de recursos para as obras sociais da Igreja. Falava-se em um novo cisma.
Também o crime organizado sofrera pesadas baixas em seus cofres. Tentando recuperar o prejuízo, os cartéis das drogas inundavam o mercado com seus produtos. Vitimados pela recessão, os jovens tornavam-se presas fáceis da ilusão química.
Em Moscou, o antigo Partido Comunista, para tristeza dos progressistas liberais, vencera as eleições para a prefeitura, realizadas logo após a crise do mercado.
Em Pequim, o venerado líder, Lin Tsu Yan, assinara com o primeiro-ministro do Japão, Hiroo Akioka, o tratado de protecionismo asiático, visando integrar a economia dos dois países. A indústria japonesa iniciou imediatamente o processo de substituição da qualidade pela quantidade para abastecer o mercado chinês.
Jack Palmer acompanhou pela imprensa a falência da Clarence & Associados, do Comercial de Manhattan, das Lojas Bars, da Trans Atlantic Airways, da Andromeda e da Vitalis.
Não derramou uma lágrima, pois, desde a explosão no Eurotunnel, o próprio Julius Clarence vinha sabotando suas próprias empresas.
O New York Times editou um caderno especial sobre a crise. Mostrou como o Banco Centro-Europeu de Lausanne, através de subornos e intimidações, infiltrara-se nas empresas de Clarence, usurpando-lhe o controle.
Entrevistada pelo jornal, Lisa Davish, viúva de Bernard, mostrou como ela e suas filhas haviam sido ameaçadas pelo Sindicato, forçando o marido a fazer o jogo dos suíços.
Aos poucos, o ódio público contra Clarence transformou-se em admiração. Seu paradeiro, entretanto, continuava um mistério. Telefonemas e cartas davam conta de sua presença em diversos lugares do mundo. Um conhecido paranormal holandês afirmara, convicto, que ele se encontrava na Bolívia. Tudo falso.
Três diretores do Sindicato haviam sido localizados. Mortos. Clive Maugh, diretor de Operações, suicidara-se em seu apartamento, em Lausanne. Gustave Thayer, diretor de Captação, fora amarrado aos trilhos e estraçalhado por um trem, perto de Salzburgo. Jacques Schneider, o contador, havia sido morto a tiros no elegante balneário de Punta del Este. Otto Behr, da Inteligência, e Mark Monpère, o administrativo, continuavam desaparecidos. O antecessor de Clive Maugh, Jean Lesneur, há anos fora do banco, encontrava-se sob a proteção da polícia.
CAPÍTULO 61
Para Mohamed Ahsan, arrebentar com o mercado havia sido brincadeira de criança. Difícil mesmo era sua nova tarefa: transformar a agricultura de seu país, tornando-a moderna, elevando sua produtividade.
O Paquistão era uma nação nova. Nova e miserável. Desde a sua fundação, em 1947, os paquistaneses lutavam contra a pobreza e a ignorância. Mais da metade da população era analfabeta, a renda per capita somava apenas 350 dólares. Havia também o clima adverso, extremamente seco. As temperaturas desciam a níveis árticos nas montanhas, ao norte. No verão, podia chegar a 50 graus nas planícies do vale do Indo, ao sul. A energia elétrica era escassa, dificultando a implantação de projetos de irrigação.
O tamanho da tarefa não assustava Ahsan. Por isso, quando falava aos alunos da Universidade de Agricultura de Faisalabad, conseguia passar-lhes seu entusiasmo e sua confiança no resultado. Inventara, há anos, seu processo de distribuição eqüitativa e balanceada de fluidos. O sistema, revolucionário, embora simples, fora criado especialmente para irrigar o Paquistão, gastando o mínimo de água e energia.
Graças a Julius Clarence, não faltaria dinheiro para o projeto. Oficialmente, os recursos haviam entrado no Paquistão através de um programa de auxílio do governo da China. Mas Ahsan conhecia a origem. Tinha total autonomia e tempo ilimitado. Com calma, em alguns anos, transformaria as terras áridas de seu país em solo fértil, para o cultivo de frutas.
Seu pai fora um próspero negociante em Calcutá, antes da separação da Índia e do Paquistão, em 1947. Na época, viu-se obrigado a sair do país, abandonando a casa, a loja e as mercadorias, à exceção de alguma prata, instrumento comum de poupança na Índia.
Quando chegou a Karachi, vendeu a prata e estabeleceu um modesto armarinho. Pôde pagar os estudos do filho mais velho. Dinheiro bem gasto. Mohamed sempre obteve as melhores notas no colégio e, mais tarde, no curso de Matemática da Universidade de Karachi.
Ao graduar-se com louvor, conseguiu uma bolsa de estudos para a Columbia University, em Nova York. Lá, obteve mestrado e doutorado em Matemática, tornando-se, em pouco tempo, o mais brilhante aluno do laboratório de Informática. Foi, então, contratado pelo governo de seu país para trabalhar no projeto nuclear. Retornou a Karachi.
Mas as autoridades não queriam a energia nuclear para fins pacíficos. O objetivo era construir a bomba e fazer frente à Índia, que explodira seu primeiro artefato em 1974. Pacifista convicto, Ahsan recusou-se a participar do projeto. Temendo represálias, voltou a Nova York, agora como clandestino. Passou a trabalhar em um restaurante, em troca de salário baixo e alojamento miserável. Destinava suas horas vagas a estudos na biblioteca pública da 5ª Avenida.
Tímido, franzino, pele escura, Mohamed lutava contra o preconceito. Nas poucas vezes em que se aventurou em busca de um trabalho mais adequado às suas qualificações acadêmicas, não passou da primeira entrevista. Faltava-lhe também o green card. Se fosse denunciado à Imigração, poderia ser deportado para o Paquistão, onde terminariam por forçá-lo a trabalhar no projeto da bomba.
Depois de várias frustrações, fez uma última tentativa. Respondendo a um anúncio do Centro de Processamento de Dados do conglomerado liderado pela Clarence & Associados, remeteu-lhes seu currículo.
Se havia algo que Judy May, chefe de Recursos Humanos da Associados, não admitia, era preconceito. Assim, quando, em 1993, seu departamento recebeu o currículo de Mohamed Ahsan, convocou-o, encaminhando-o a um teste. Após uma pré-seleção sobraram 20 candidatos, entre eles Mohamed, para as três vagas de analista de sistemas. Os pretendentes foram colocados em uma sala, cada um deles em frente a um computador.
– Vocês têm uma hora para solucionar um problema de avaliação de administradores de carteira – disse o encarregado do teste. – Os três melhores resultados serão recompensados com as vagas.
Para Ahsan, o problema era primário, quase um insulto a seus conhecimentos. Surgiu-lhe, então, a idéia de surpreender a todos e revelar, de alguma maneira, o quanto era superior aos demais candidatos. Num impulso, desligou o monitor de sua máquina. Continuou o trabalho, de memória, sem ver na tela o resultado dos passos implementados a cada toque de seus dedos.
Aos poucos, todos perceberam que ele trabalhava com a tela apagada. Seus dedos seguros tocavam as teclas, o sorriso de superioridade não deixava margem a dúvidas: o esquálido, escuro e insignificante paquistanês, Mohamed Ahsan, não precisava de monitor para elaborar aquele programa elementar.
Os demais candidatos interromperam o trabalho. O examinador chegou até Ahsan, pretendendo dizer alguma coisa, mas desistiu. Em 20 minutos, de memória, o matemático de Karachi deu de presente à Clarence & Associados um sofisticado programa de análise da atuação dos profissionais da mesa. Fez isso com seu monitor desligado.
Conseguir o emprego não foi problema. Como também não o foi a obtenção do green card. Em seis meses, tornou-se vice-presidente de Processamento de Dados de todo o conglomerado. Sua presença era obrigatória nas tomadas de decisões. Não raro, subia para drinques com Clarence (Julius, uísque ou vodca; ele, chá) na suíte da Liberty Tower.
Quando Mohamed assumiu suas novas funções, a maioria das decisões, tanto nas bolsas como nos mercados futuros, já era tomada com base em programas de computador. As máquinas analisavam as cotações e decidiam o que comprar e vender. Os profissionais eram escravos de seus computadores e de seus programas. Obedeciam-lhes cegamente.
Após conhecer tais sistemas, Ahsan desenvolveu para Julius Clarence um programa inédito e revolucionário. Através dele, a mesa da Associados podia antecipar os movimentos futuros dos programas dos concorrentes e contra-atacá-los, com velocidade fulminante e surpreendente.
Nem assim o paquistanês sentiu-se realizado. Precisava de novos desafios. Por isso, alegrou-se quando Clarence o chamou para destruir o mercado.
Na mesma quinta-feira em que Julius deixara Nova York, Ahsan deslocara-se furtivamente até o cais do Brooklyn e embarcara em um cargueiro chinês, com destino a Karachi. Fora contratado pelo governo para trabalhar em irrigação, longe do projeto da bomba.
Agora, pacientemente, mostrava a seus alunos o funcionamento de seu processo de distribuição eqüitativa de líquidos.
– Em alguns anos, o Paquistão poderá tornar-se um grande produtor agrícola – explicava ele. – As condições de vida do povo serão melhores. Poderemos nos livrar da pobreza e da ignorância.
Aquele era o verdadeiro sonho de Mohamed Ahsan. Muito melhor do que trabalhar no mercado. Melhor até que destruí-lo.
CAPÍTULO 62
O procurador-geral, William Tracy, não gostava do diretor Anthony Angiolillo. Gostaria de ter o bureau dirigido por alguém de sua confiança, de sua própria escolha. Mas o presidente Dale fazia questão de escolher pessoalmente os ocupantes dos principais cargos. Assim, fazia com que devessem seus empregos diretamente à Casa Branca.
Tracy tinha ciúmes de Angiolillo, de seu sucesso na luta contra o crime organizado. Por isso, apesar de também desejar localizar Julius Clarence, não podia deixar de sentir uma ponta de satisfação ao notar o visível constrangimento do diretor do FBI, sentado a sua frente, tentando explicar o fracasso das investigações para a localização e prisão do magnata. Além disso, tal como a maioria das pessoas, Tracy nutria secretamente uma admiração pela façanha perpetrada pelo megaespeculador.
– Fizemos tudo, senhor secretário, o homem desapareceu. – Angiolillo sentava-se à ponta da cadeira, esfregando as mãos nervosamente.
– Cumpriu seu dever, diretor. Estou certo disso. Mas fique sabendo: o presidente tem um enorme interesse pelo assunto. Julius Clarence arruinou sua administração. – O procurador satisfazia-se com a aflição do subordinado.
– Trouxe pessoalmente um relatório detalhado das investigações. Mas, se me permite, senhor secretário, gostaria de adiantar alguns pontos.
Angiolillo retirou de sua pasta um dossiê volumoso. Colocou-o sobre a mesa.
– Clarence desapareceu – continuou. – Como nunca vi ninguém desaparecer antes. A última pessoa a vê-lo foi o porteiro da garagem da Liberty Tower, em Nova York, na quinta-feira, véspera do fechamento das bolsas. Seu carro foi encontrado, intacto, no estacionamento de um shopping center do Queens. Seu principal executivo, aliás seu amigo pessoal, Bernard Davish, suicidou-se dois dias depois, jogando-se debaixo do metrô. – O diretor sabia que o procurador estava ciente de tudo aquilo, mas precisava dizer alguma coisa. Não podia simplesmente largar os papéis e ir embora.
– Bem, diretor, mas quanto aos outros envolvidos? Clarence não pode ter feito tudo sozinho.
Angiolillo esperava por aquela pergunta. Finalmente, teria algo palpável para explicar.
– Mohamed Ahsan. Trata-se do paquistanês. Um gênio. Temos tudo sobre ele aqui no dossiê. Foi quem executou o trabalho, certamente a mando de Clarence. Sabotou os programas dos computadores do mercado, infiltrou-se nas redes dos concorrentes e das bolsas. Sabemos onde está, mas não podemos fazer nada.
Angiolillo retirou da pasta uma série de fotos. Separou uma delas, recente, na qual o matemático Mohamed podia ser visto proferindo uma palestra. Apressou-se em esclarecer:
– Ele deixou Nova York misteriosamente e reapareceu em sua terra. Trabalha em uma universidade. Alguma coisa ligada à agricultura. Sabe como são excêntricos esses gênios. Pode até mesmo não ter ganho nada com a crise. O governo paquistanês nos permitiu contatá-lo, mas ele se recusou a falar de Julius Clarence e de computadores. Nossos agentes voltaram de lá com as mãos abanando.
O diretor do FBI destacou outras fotos e passou a exibi-las ao procurador-geral.
– Esta aqui é Claire Kellegher, 58 anos, primeira mulher de Clarence. Foram casados por apenas alguns meses. Depois, tornaram-se amigos. Riquíssima, bem-sucedida, acaba de produzir para a Broadway o musical Twenty First Century. Não vê o ex-marido há mais de um ano. Colaborou conosco nas investigações, sem muito entusiasmo, eu diria.
– Francine Kéraudy, francesa, pouco mais de 50 anos, mais rica ainda. Certamente, o senhor a conhece de nome. Herdou de seu pai a Midi-Pyrénées e dinamizou a empresa. Fabrica e vende mísseis para quem esteja disposto a pagar. Ajudou a equipar as forças armadas de Saddam Hussein antes da Guerra do Golfo. Já foi alcoólatra. Recusou-se a receber nossos agentes. Mandou que falassem com seus advogados. Eles informaram que ela não vê Clarence há quase 25 anos. Provavelmente é verdade.
Angiolillo mostrou uma foto de Francine Kéraudy desembarcando de seu jato particular. Passou a falar de Jessica:
– Foi sua terceira mulher. Morreu em um acidente em 1980. Foram casados por sete anos. O casamento foi precedido de um caso rumoroso, um escândalo que agitou o mercado. Jessica Clarence, antes Jessica Lowell, havia sido casada com um sócio e amigo de Julius Clarence.
William Tracy estava visivelmente interessado. O diretor voltou à sua pilha de fotos – poderia ter trazido CD-ROMs para exibi-las no computador, mas gostava das coisas à maneira antiga – e tirou de lá o retrato de um casal idoso, duas fisionomias extremamente agradáveis.
– Martin e Lora Beresford – disse ele. – Vivem no Kentucky, em Glensboro, a oeste de Lexington. Lá, o senhor Beresford criou cavalos por muito tempo. Agora sua filha mais moça administra a criação. Talvez o maior amigo de Clarence. Por muitos anos, foi seu vizinho em Greenwich. Não ajudou muito nossas investigações. Não vê nem fala com Clarence há quase um ano, não sabe onde ele está e, se soubesse, não diria. Apesar de haver perdido dinheiro no mercado, Martin Beresford tem seu amigo em alta conta.
– Pelo que vejo, diretor, as pessoas não ajudaram muito seu bureau. Mais alguém interessante?
– Alan Payne. Por longo tempo comandou a inteligência da Clarence & Associados. Aposentou-se há alguns anos. Dedica-se à pesca oceânica. Vive em Marathon, nas Keys. É um homem rico. Muito sabido também. Estava com dinheiro vivo no dia do estouro das bolsas: marco alemão, franco suíço e iene japonês. Tentou colaborar conosco. Payne foi agente em Langley, por alguns anos, antes de trabalhar na Associados. Nos falou de uma ligação entre Julius Clarence e Abdul al-Kabar, o homem do petróleo.
– Li algo a respeito em um relatório da Agência. Mas nada de concreto. Então, esse senhor... Payne, não?... Esse senhor Payne finalmente esclareceu a relação entre os dois?
– Não exatamente, senhor secretário. Quando trabalhou para Clarence, Alan Payne sempre suspeitou de uma sociedade, que teria sido encerrada em 1976, entre ele e Abdul al-Kabar, o ministro do Petróleo da Arábia Saudita. Um advogado inglês, Basil Kennicot, já falecido, e uma agente alemã, assassinada na Áustria em 1969, o crime nunca foi esclarecido, teriam sido os contatos entre os dois. Mas Payne nunca teve certeza. Apenas uma forte suspeita. Al-Kabar morreu há três anos, quando trabalhava em seu escritório particular em Londres, prestando consultoria sobre petróleo para a República do Azerbaijão.
– E quanto ao círculo mais íntimo, diretor? Empregados domésticos, essas coisas? Ninguém sabe de nada?
– Lamentavelmente, a resposta é não. A secretária particular, Diane Jordan, uma afro-americana – Angiolillo não se sentia à vontade para falar sobre pessoas negras, já que o procurador-geral, também ele um afro-americano, fazia questão dos tratamentos e nomenclaturas corretos –, aposentou-se há 18 meses. Como também se aposentaram o motorista particular Antoine Yassuf, a governanta mexicana Teresa Carmela e o mordomo filipino Jesus Caballo. A senhora Jordan mora com o marido em Vermont, Yassuf tem uma fazenda de plantação de amendoim no Senegal, Teresa morreu há seis meses em Guadalajara e Jesus possui um restaurante no East Side, em Nova York. Desnecessário dizer, senhor: nenhum deles tem a menor idéia do paradeiro de Clarence. E, para ser honesto, senhor secretário, se soubessem, não diriam. Devem tudo o que têm ao antigo patrão. Idolatram-no como a um santo.
Como não tinha nada de concreto para apresentar, o diretor do FBI falava o tempo todo, evitando, assim, mais perguntas. Explicou que, nos últimos anos, o magnata contratara novos serviçais, vendera a mansão de Greenwich e passava a maior parte do tempo na suíte da Liberty Tower. Desejando sair dali rapidamente, passou ao último assunto: Valérie Toulon, em Saint-Barthélemy.
– Senhor procurador-geral. Havia uma última esperança. Nos últimos tempos, Julius Clarence se encontrava, às escondidas, com uma aeromoça da Trans Atlantic, uma nativa da Polinésia Francesa chamada Valérie Toulon. Conseguimos localizá-la e, lamentavelmente, o pessoal da imprensa também, na ilha de Saint-Barthélemy, nas Índias Ocidentais Francesas. Tínhamos esperança de que Clarence terminasse indo para lá. Não foi. A moça está morando com Jack Palmer, um agrônomo aposentado das Nações Unidas. Checamos tudo sobre ele. Nada tem a ver com nosso homem. Nem mesmo semelhança física. Julius Clarence desapareceu. Poderemos encontrá-lo amanhã. Talvez daqui a um ano. Ou nunca mais. Mas estaremos atentos. Se ele cometer algum erro, vai passar o resto da vida em uma prisão federal.
CAPÍTULO 63
Eram 3h30 da manhã quando Jerry Horne, finalmente, encontrou a solução para o problema que o atormentava há vários meses. Se alguém pudesse vê-lo, em sua sala, no Edifício Quatro da sede da Cyberia, em Santa Clara, no coração do vale do Silício, dançando ao redor de sua cadeira como um índio bêbado, diria que enlouquecera.
A Cyberia era um retrato fiel da América bem-sucedida. Em apenas 20 anos, Arthur Clusky transformara sua pequena empresa, de início localizada nos fundos da oficina mecânica de seu pai em Yuma, Arizona, no poderoso complexo industrial de Santa Clara onde eram idealizados e desenvolvidos programas de software e equipamentos para computadores pessoais.
Nos cinco estranhos edifícios, cada um com sete andares, a falta de janelas impedia que funcionários e visitantes contemplassem os belos jardins plantados ao redor das construções. Para Clusky, elas atrapalhariam a concentração. Nos quatro grandes galpões industriais, uma temperatura ambiente de 18 graus centígrados obrigava os empregados a manter-se permanentemente agasalhados.
Jerry Horne trabalhava na unidade de prevenção, localização e combate aos vírus, mais conhecida por UV. Sendo, indiscutivelmente, o maior talento da equipe, cabia-lhe coordenar o trabalho de descoberta de novos vírus. Elaborava os programas de combate adequados a cada um deles.
Desde sua invenção, os vírus infernizavam os fabricantes e usuários de programas. Pelo menos dez eram descobertos a cada dia, obrigando as indústrias a despender grandes recursos na localização e destruição daquelas pragas.
Quase sempre, alguém atravessava a madrugada na UV. Um trabalho atrasado ou a descoberta de um vírus mais eficiente e destruidor provocavam esses serões.
Horne era solteiro e não tinha namorada. Podia varar a noite sem precisar dar satisfações a ninguém. Apaixonado pela profissão, não raro esquecia-se até mesmo de comer. Odiava os sabotadores, embora devesse a eles seu ganha-pão e seu prestígio na Cyberia. Passara seus últimos meses estudando o vírus causador do caos no mercado financeiro. Sabia, como todo mundo, embora não houvesse provas, que o paquistanês Mohamed Ahsan desenvolvera o programa.
Desde o início do trabalho, Horne descobrira o código detonador do processo: a notícia de um naufrágio inexistente nas águas do Atlântico Norte, digitada por Mark Richardson, operador da Trans Globe Market News, agora preso na penitenciária de Lansing, no Kansas.
Só mais tarde alguém percebera que as coordenadas geográficas do local daquele naufrágio fictício eram as mesmas do ponto onde o Titanic submergira em 1912, levando para o fundo arenoso do Atlântico 1.500 pessoas. Imediatamente o vírus passou a ser conhecido por Titanic, por sinal – embora Jerry não soubesse disso – o mesmo nome idealizado por Mohamed Ahsan.
Com paciência oriental, Horne estudara a seqüência dos acontecimentos.
A mensagem do naufrágio, remetida aos terminais da Trans Globe, circulara pelos mesmos computadores onde as cotações e os gráficos eram processados e os programas automáticos de compra e venda de ações na Bolsa de Tóquio eram desenvolvidos. Os 55 caracteres digitados em Kansas City interferiram nos programas, gerando ordens de venda de grandes lotes de ações por preços baixíssimos.
Mas a sabotagem deveria limitar-se aos terminais da Trans Globe. Como pôde o Titanic interferir em todos os programas, em todos os mercados, ao longo de todo o mundo?
Só agora, vários meses depois, às 3h30 da manhã, Jerry descobrira a solução do problema.
Mohamed Ahsan desenvolvera um vírus muito mais complexo e eficiente do que o imaginado a princípio. O Titanic dera início a uma reação em cadeia. Horne conseguira reconstituir, em seu computador, todos os eventos eletrônicos postos em ação naquela noite fatídica. Pôde resumir a seqüência sinistra desenvolvida pelo paquistanês.
Durante vários meses, possivelmente mais de um ano, uma família de vírus poderosos, criada por Mohamed Ahsan, alastrara-se pelos computadores de todo o mundo.
A primeira onda de ataque foi desencadeada pela notícia do naufrágio nos terminais da Trans Globe. Os programas eletrônicos de especulação, conectados a esses terminais, receberam sinais de venda de grandes volumes de ações.
Vendas tão volumosas derrubaram o índice de força relativa no gráfico intraday do Nikkei futuro, negociado na Bolsa de Cingapura, para o nível 20. Esse nível ativou o segundo vírus, muito mais poderoso, pois atingiu os demais sistemas – e não só os conectados à Trans Globe –, já que todos os programas acompanham a força relativa do Nikkei futuro, assim como dos demais mercados.
Em sua seqüência de atuação, o segundo ataque, que Jerry batizou de Titanic II, bloqueou as compras de dólares comandadas pelos computadores do Banco da Reserva Federal e gerou ordens de venda, em volumes sem precedentes, de obrigações de 30 anos do Tesouro dos Estados Unidos, fazendo com que mergulhassem para o limite de baixa na sessão noturna da Bolsa de Chicago.
A queda máxima das obrigações americanas acionou o Titanic III, disseminando-o por todo o sistema financeiro mundial. Os computadores divulgaram notícias falsas – como a explosão do terminal de embarque de petróleo da ilha de Kharg, no golfo Pérsico, e a renúncia do chairman do FED, Arnold Sinclair –, compraram grandes quantidades de ouro e venderam ações por preços irrisórios nos mercados eletrônicos.
Finalmente, o Titanic III aniquilara as defesas das bolsas, reduzindo as margens de garantias exigidas dos especuladores.
O resto ficara por conta do pânico.
Jerry Horne, agora, conhecia todo o processo. Podia desenvolver seu programa anti-Titanic. Em sua obtusidade cibernética, não se apercebia da inutilidade do novo programa.
CAPÍTULO 64
Jack estacionou o jipe no Quai de La République e saiu caminhando pela orla, de mãos dadas com Valérie, como fazia quase todas as noites. Mais tarde, o passeio terminaria, como sempre, à mesa de um dos excelentes restaurantes locais.
Aquela agradável noite de outono não foi diferente. Os dois desceram a Bord de Mer, viraram à direita na Centenaire e novamente à direita na Jeanne d’Arc, sempre contornando o retângulo da enseada. Decidiram-se pelo terraço do La Marine.
A alta estação ainda não começara e havia poucos freqüentadores. Enquanto o chef preparava um civet de canard, os dois liquidaram uma travessa de ostras, regada por um formidável blanc des blancs. Jack verificou se não havia ninguém ao alcance de sua voz e voltou a falar de Rutger Olen.
– Isso foi há mais de 20 anos – disse, em voz baixa. – Olen era, na época, senador pela Geórgia e cismou de destruir Julius Clarence. O bode velho quase acabou comigo.
No final de 1973, após o primeiro choque do petróleo, a fortuna pessoal de Clarence passava de 200 milhões, mesmo deduzida a parte de Abdul al-Kabar. Tanto dinheiro não poderia passar desapercebido aos homens de Washington, entre eles o senador Olen.
O futuro do veterano político era incerto. Encontrava-se em seu sexto mandato, primeiro na Casa dos Representantes, depois no Senado. No princípio as eleições foram fáceis. Depois, Lyndon Johnson promulgou a Lei dos Direitos Civis, e os negros se organizaram. E Olen tinha poucos votos entre os negros.
Na última eleição, conseguira sustentar seu mandato com uma estreita margem de 2% sobre Phil Malone. Este era jovem, bonito, tinha uma bela mulher e contava com o apoio dos negros. E, pior, pretendia disputar a cadeira novamente nas eleições do ano seguinte.
Olen precisava desesperadamente manter-se em evidência. Só assim conseguiria influenciar os eleitores da Geórgia e reeleger-se mais uma vez. Escolhera Julius Clarence como trampolim para seu novo mandato.
Não seria difícil demonstrar que o magnata nova-iorquino ganhara uma fortuna especulando com petróleo, enquanto os consumidores eram obrigados a pagar uma exorbitância por um galão de gasolina. Estava decidido. Clarence seria seu vilão. Seu bode expiatório para o fracasso do sonho americano.
Enquanto, no início daquela noite de fevereiro, o senador da Geórgia permanecia em seu gabinete no Capitólio, preparando sua moção, a 500 quilômetros ao norte, em Greenwich, Julius nem de leve desconfiava da ameaça. Naquele momento, mais parecia uma criança em dia de aniversário.
Um copo de uísque na mão, aguardava, impaciente, os primeiros convidados à festa de inauguração das reformas da casa. Tilintava as pedrinhas de gelo com os dedos. De vez em quando, levantava-se e corria os salões para ver se tudo estava em ordem. Habitualmente, não se ligava muito a esses preparativos. Mas a ocasião era especial. Pela primeira vez recebia com Jessica, e queria tudo perfeito.
Jessica Clarence estava deslumbrante em um palazzo pijama de musselina azul-turquesa. Mesmo sendo a anfitriã, não se preocupava com os detalhes da recepção. Bastava ver Julius feliz, era o suficiente.
Os convidados começaram a chegar. À entrada deixavam seus carros aos cuidados de valets e corriam para se abrigar do frio. Os sobretudos eram recolhidos no saguão de entrada. Depois de uma segunda porta, eram recebidos por Julius e Jessica.
Uma hora mais tarde, a mansão estava repleta de gente bonita, elegante e aparentemente muito feliz.
Vinte garçons, obedecendo às ordens de dois maîtres, serviam os convidados espalhados pelos salões. No jardim de inverno, todo envidraçado, a grande surpresa da noite: Herb Alpert e seus Tijuana Brass, levados por Claire Kellegher, tocavam para dançar, tendo como cenário de fundo as árvores do exterior, cobertas de neve, faiscando à luz dos refletores. Quem dançava sentia-se em meio a um bosque.
Na sala de jantar, um grande bufê constituía-se em séria ameaça às silhuetas delgadas, já tão em moda na ocasião.
Wall Street em peso encontrava-se presente. Além do pessoal de mercado, lá estavam os íntimos da casa, executivos da Associados e do Manhattan, vizinhos de Greenwich, alguns artistas e até um político, o idoso senador por Connecticut Christopher Jewison, também morador do condado.
Julius não cabia em si de contentamento. Passeava pelas rodas, brincando com todos. De vez em quando, percebia olhares insinuantes de algumas mulheres. Mesmo feliz com Jessica, era bom para o ego vê-las tão disponíveis.
O velho senador conhecia Clarence apenas superficialmente. Mesmo assim, em pouco tempo já estava íntimo dos anfitriões e de boa parte dos presentes. Jewison sabia que Rutger Olen, seu colega da Geórgia, preparava uma armadilha contra Julius. Agora, enquanto apreciava a festa e os Clarences, perguntava-se. Devia ou não alertar seu vizinho a respeito do comitê? Sentiu-se culpado por calar-se, enquanto comia e bebia à custa dele. Mas não precisou avisá-lo. Sua mulher tomou a iniciativa de contar para Jessica.
Martha Jewison era uma velhinha adorável. Já rodara toda a casa, comera à vontade, bebera três taças de champanhe. Ao contrário do marido, que já lhe falara do senador Olen e de seus planos, não hesitou. Tão logo encontrou uma oportunidade, pegou Jessica pelo braço e contou tudo.
– Seu marido precisa tomar muito cuidado – sussurrou ela enquanto mordiscava um camarão espetado num palito. – Estou sempre em Washington, onde temos um apartamento. Conheço quase todos os senadores. Olen é uma raposa esperta e perigosa. Fará qualquer coisa para ganhar votos. Muito cuidado – repetiu, segurando o braço de um garçom e interrompendo sua caminhada com uma bandeja de canapés.
Só ao final da noite, quando todos já haviam ido embora, Jessica revelou a Julius o que a senhora Jewison lhe confidenciara. Clarence não se impressionou. Apenas mais um político querendo aparecer.
– Jessica, se eu der importância aos políticos, não vou poder mais trabalhar. Eles adoram culpar Wall Street por todos os males do país. Vamos esperar para ver o que acontece. Em todo caso, é bom saber que o senador e a senhora Jewison gostaram da gente.
Uma semana depois, Rutger Olen conseguiu as últimas assinaturas necessárias à aprovação de sua moção. A partir daquele momento, o Senado iria investigar formalmente as atividades do especulador Julius Clarence no mercado de petróleo.
Para decepção de Olen, os jornais deram pouco destaque à notícia. Mas não se deu por vencido. Tão logo começassem as investigações, haveria de receber a devida atenção. Rutger Olen tinha certeza: Julius Clarence carimbaria seu passaporte para mais um mandato.
Julius recebeu a intimação para comparecer ao Senado na segunda-feira, 25 de março. Não temia a investigação: esta apenas o aborrecia. Mas recebeu com grande surpresa, quase que simultaneamente, uma notificação do Serviço Interno de Rendas do Departamento do Tesouro, chamando-o a prestar esclarecimentos sobre sua última declaração de imposto de renda.
Longe de entrar em pânico, convocou Alan Payne, Richard Bradley, do Jurídico, e o contador Carlos Goicochea. Reuniu-os na suíte. Explicou rapidamente a razão do chamado. Começou por Payne.
– Alan, eu devia ter avisado você antes. Já sabia desse maldito comitê. A mulher do senador Jewison, meu vizinho, contou tudo à Jessica, na festa lá em casa, semana passada. Gostaria de saber quem é esse Olen e o que ele está querendo.
– Bem, Julius, se você tivesse me contado, eu poderia ter adiantado as coisas. Só soube anteontem, pelos jornais. – Havia um leve tom de censura em sua voz. – Já ouvi falar do senador Olen. É um político conservador, lá do Sul. Um antigo segregacionista. Mas ainda temos bastante tempo. Em dois ou três dias, já terei conseguido alguma coisa.
Clarence voltou-se para Bradley.
– Quanto a você, Richard, parece-me que depoimento no Senado é coisa mais de sua área, não de Ridgefield. Preciso saber quais são as conseqüências de uma investigação como essa.
Tendo também visto a notícia nos jornais, o advogado já estudara, por alto, o assunto.
– Aconselho você a contratar um especialista – respondeu de pronto. – Alguns colegas só tratam disso. Conhecem o Capitólio, se dão com os congressistas. Tomei a liberdade de estudar alguns nomes. Amanhã, no final do dia, o mais tardar, já saberei qual é o melhor entre os disponíveis. Comitê do Senado é assunto sério. Pode dar um bocado de aborrecimento.
Depois que Bradley terminou, Goicochea soube por que estava ali. Julius exibiu-lhe a notificação do Serviço Interno de Rendas do Tesouro. O contador era fera. Fora contratado, a peso de ouro, para trabalhar no conglomerado. Desde sua chegada, nenhuma das empresas tivera mais problemas contábeis.
Marcaram nova reunião para três dias depois. Julius estava extremamente irritado, mas não muito preocupado. Mas estaria, se soubesse que, nas próximas semanas, toda a opinião pública se voltaria contra ele.
CAPÍTULO 65
Geoffrey Donner não era um jornalista de renome, mas tinha prestígio entre os colegas de profissão. Poucos conheciam como ele os bastidores do Capitólio. Relacionava-se pessoalmente com a maioria dos senadores e deputados. Prestava favores aqui e acolá, fazendo matérias de interesse dos congressistas. Em troca, recebia deles furos de reportagens.
Por diversas vezes, deixara atônitos seus colegas do Potomac Herald, e mesmo dos outros jornais, ao divulgar fatos que só seriam anunciados oficialmente no dia seguinte.
Ultimamente, Donner sentia-se frustrado pela publicidade em torno do escândalo Watergate; fora um dos primeiros a tomar conhecimento da invasão da sede do Partido Democrata, em junho de 1972. Mas, para seu infortúnio, não dera a devida importância ao incidente. Via-se agora obrigado a cobrir o caso, mesmo sabendo que o mérito iria para seus colegas do Post.
Divorciado, tinha uma filha única, casada com um oficial da Força Aérea, morando na Alemanha. Acordava diariamente às 10h. Ficava em casa até o meio-dia lendo os jornais. Almoçava no Congresso, onde, depois, assistia às sessões, conversava com deputados e senadores e acompanhava o trabalho das comissões. Ao final da tarde, ia para o Herald, onde preparava suas matérias.
Deixava a redação por volta das 10h da noite para jantar, geralmente com colegas. Bebia até a madrugada. Invariavelmente, chegava em casa embriagado e desabava sobre a cama. Não raro, acordava no dia seguinte vestindo ainda o surrado terno da véspera.
Ao longo da semana, Donner aguardava, aflito, a chegada da noite de quinta-feira. Nesse dia, procurava fechar suas matérias o mais rápido possível e corria ao encontro de seus parceiros de pôquer.
Já tentara aumentar a freqüência do jogo para duas vezes por semana. Sem sucesso. Os outros jogadores, em sua maioria casados, conseguiam, no máximo, uma noite livre. Geoffrey contentava-se, então, com essas poucas horas.
Os parceiros eram quase sempre os mesmos, variando apenas o número, um mínimo de quatro e um máximo de sete. Donner, o único jornalista. Os outros, na maior parte funcionários públicos, inclusive um coronel lotado no Pentágono. Finalmente, um psiquiatra, também divorciado, e um piloto comercial, cuja presença era condicionada a sua escala de vôo.
O local, sempre uma suíte de hotel. O jogo começava às 9h, estendendo-se até 1h da madrugada, às vezes um pouco mais. Eram servidos sanduíches e bebidas; as despesas, rateadas entre os jogadores.
O jornalista apreciava a liturgia do jogo. Gostava de manusear as fichas, comandar uma troca de baralho, quando a sorte lhe faltava, filar as cartas. Filava lentamente, primeiro a cor, depois os contornos iniciais das figuras e dos números. Geoffrey Donner gostava de blefar. Um blefe bem-sucedido era melhor que uma boa trepada. Só os verdadeiros jogadores sabem disso.
Se não fosse tão afobado, seria um jogador razoável. Mas tinha um defeito mortal. Participava de todas as jogadas, mesmo quando suas cartas eram ruins, as possibilidades pequenas.
Era o grande perdedor da roda, todos se davam conta disso. Encontrava-se permanentemente endividado. Forçara os parceiros a aumentar o cacife do jogo. Agora, cada um começava com 500 dólares. Ao longo do jogo, poderiam comprar mais cacifes, quantos quisessem.
Quinze dias antes, a sorte havia sido cruel com Donner, fazendo suas dívidas fugirem a seu controle.
Naquela noite, estivera com sorte até a hora fatídica. A mesa estava completa: sete pessoas. Quem dava cartas não participava da mão. Faltava apenas a última, já passava de 1h30.
Donner, em noite inspirada, lucrava 1.700 dólares. Para sua sorte, cabia-lhe agora dar as cartas, presidir a mesa. Depois, era só receber seu dinheiro. No dia seguinte, poderia pagar parte de suas dívidas e diminuir o peso dos juros escorchantes cobrados pelo agiota.
Na última mão, como de costume, as apostas foram aumentadas. Daquela vez, mais ainda, por pressão do coronel Ryan, que perdia muito. Cada um deveria pingar 100 dólares. Geoffrey sentiu-se injustiçado. Logo naquela noite, quando o vento soprava a favor, os caras iam jogar com um pingo de 100, deixando-o de fora. Convenceu o outro ganhador da noite a ceder-lhe a vez.
As cartas foram distribuídas. Donner sentiu uma contração do estômago, uma sensação estranha de potência, quando filou um quatro, um rei e, seguidinhos, três noves.
– Duzentos dólares – apostou. Pegou quatro fichas de 50 e as colocou no centro da mesa.
Três jogadores passaram.
– Eu pago – disse Ned Hardy, pesquisador da Administração de Alimentos e Remédios, enquanto aumentava o bolo de fichas.
– Eu acompanho. – O coronel engordou a pilha.
Donner foi o primeiro a pedir cartas. Para dar a impressão de estar com dois pares, pedida de seqüência ou flush, segurou o rei junto à trinca de noves.
– Uma carta – pediu, tentando parecer displicente.
– Não quero cartas – rebateu Hardy prontamente, para desalento do jornalista.
– Eu quero três. – O coronel, teimosamente, tentava, a todo risco, tirar seu prejuízo.
Donner “chorou” a quinta carta. Fê-lo lenta e verticalmente. Usando ambos os polegares, escorregou-a, de baixo para cima, sob as quatro restantes.
Depois de alguns segundos surgiram dois tracinhos horizontais no lado esquerdo superior da carta escondida, exclusividade de um rei. Full hand de noves!
O jornalista tentou dissimular sua euforia. Por sobre os óculos, deu uma espiada nos outros. Precisava, agora, ter calma para extrair-lhes o máximo.
– Mesa – pediu, sentindo-se um profissional.
– Eu aposto 400. – Ned, que não pedira cartas, transferiu quatro fichas de 100 para o centro. Sua aposta não foi surpresa.
Surpreendente foi o coronel.
– Eu pago os 400 e aposto mais 800. – Ele pedira três.
Dick Reynolds, estatístico do Departamento do Trabalho, apenas dava cartas. Fechara sua noite no lucro. Mesmo assim, estava tenso.
– Calma, companheiros – aconselhou ele. – O jogo está alto demais. Alguém poderá se prejudicar. Estamos aqui para nos divertir, não para nos arruinarmos uns aos outros.
Mas Geoffrey não iria perder sua grande oportunidade. Um full hand numa rodada de apostas altas não acontecia todos os dias.
Segundo sua filosofia, o maior pecado de um jogador consistia em não aproveitar uma boa mão.
– Eu pago os 400 de Ned, os 800 do coronel Ryan e aposto mais 1.600.
Ned Hardy não era um otário. Tinha em sua mão uma seqüência de ás a dez. Mas os outros dois tinham apostado alto, apesar de ele não ter pedido cartas. Um deles deveria ter um flush, um full hand, quem sabe até um four ou straight flush.
– Eu passo – disse com convicção, uma ponta de tristeza.
Restava Ryan. O coronel colocou suas cartas na mesa, pediu mais fichas à banca e, olhando fixamente para o jornalista, falou pausadamente:
– Pago os 1.600 e aposto mais 3.200.
Donner sabia que estava liquidado. Ryan pedira três cartas. Se agora apostava tanto, é porque um terrível capricho do destino lhe dera um jogo alto, muito alto. O mais sensato seria cair fora, perdendo os 3.100 que já deixara na mesa. Como, até aquela rodada, conseguira ganhar 1.700 dólares o prejuízo final seria de 1.400. Teria de tirar mais algum do agiota, não seria a primeira vez. Outra noite, recuperaria seu dinheiro.
Mas, e se o coronel estivesse blefando? Esses militares têm sangue-frio. São treinados para a guerra. Matematicamente, as chances de uma pessoa, tendo pedido três cartas, fazer um jogo superior a um full hand de noves são de, no máximo, 5%. Provavelmente, nem isso. E a sua maneira de olhar?
Ryan estava blefando, agora Geoffrey tinha certeza. Comprou mais fichas.
– Eu pago os 3.200 – disse, sentindo uma súbita frouxidão nos esfíncteres. Empurrou com as duas mãos uma montanha de fichas para o centro da mesa. Lançou ao coronel um olhar estranho, um misto de súplica e arrogância.
O four de oitos foi mais do que um soco no estômago. Foi um escárnio, uma cuspida na cara. Como pode um cara entrar numa mão pesada como aquela com apenas um par de oitos? Como o destino pudera ser tão cruel, fazendo entrar mais dois oitos, uma chance em 10 mil?
Donner manteve a dignidade. Preencheu um cheque de 4.600 dólares e o entregou à banca. Olhou para o coronel.
– Peço que só deposite o cheque quando eu avisar que já consegui o dinheiro. – Procurava ser o mais educado possível. – Na próxima quinta-feira, a dívida estará liquidada – completou.
Vestiu o paletó. Não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas, as orelhas se tingissem de vermelho, as mãos começassem a tremer.
Retirou-se rapidamente para que os outros não percebessem a extensão de sua angústia.
Poderia ter ficado devendo aos parceiros, pagar-lhes aos poucos e, mais tarde, quando a dívida estivesse liquidada, voltar a jogar. Não eram profissionais. Jogavam por distração, para sair um pouco de suas casas. Por certo, poderiam esperar algumas semanas.
Mas o jornalista tinha vergonha de dever a jogadores. Seria preciso ficar fora do jogo por algum tempo. Além disso, eles falariam. Seus colegas da imprensa terminariam por saber. Preferiu tomar mais dinheiro emprestado, pagando 10% ao mês de juros. Pior. Na ânsia de recuperar seu dinheiro, retornara mais duas vezes ao jogo. Entregara outros 2.300.
Agora, devia um valor muito alto, não tinha como pagar. Pior, devia a agiotas profissionais, não a amistosos colegas de pôquer. E os caras saberiam ser violentos, se fosse preciso, na hora de receber sua grana.
Por isso, aceitou o dinheiro do senador Rutger Olen, muito mais do que devia no pôquer. Fazia agora uma série de reportagens sobre Julius Clarence, para grande satisfação de Patrick Reeves, proprietário do Potomac.
A circulação do jornal aumentava dia a dia. Novos anunciantes estavam surgindo. Quem sabe o Herald não conseguiria a mesma projeção do Post, que vinha aniquilando Richard Nixon.
CAPÍTULO 66
Jamais Clarence poderia imaginar toda a opinião pública se voltando contra ele, tão subitamente, como acontecia agora. Tornara-se o grande responsável pela alta do petróleo. Nem mesmo comparecera à primeira audiência no Senado e já encarnava o inimigo número um, o culpado pelas filas nos postos de gasolina, pelo aumento ininterrupto dos preços.
Felizmente, ninguém sequer suspeitava de sua associação com Abdul al-Kabar, o todo-poderoso ministro do Petróleo da Arábia Saudita, que, nas reuniões da OPEP, em Viena, selava o destino dos consumidores americanos.
A crise saía-lhe cara. Os fundos administrados pela Associados sofriam saques pesados, o Comercial de Manhattan perdia clientes. Para não ver as ações do banco despencando, Clarence as sustentava no mercado de balcão, usando, para isso, boa parte do dinheiro ganho com o petróleo e com o ouro.
Havia também o imposto de renda, problema mais imediato.
Tentando resolvê-lo, Julius encontrava-se reunido com o contador, Carlos Goicochea.
– Carlos, quero saber exatamente o que está acontecendo e quais são as minhas chances. – Clarence estava extremamente irritado.
– Julius, o SIR está cobrando 120 milhões de dólares, referentes a lucros obtidos por você, segundo eles, no mercado de petróleo de Roterdã e no mercado físico de ouro na Europa. Estive no SIR várias vezes. Segundo eles, você escamoteou seu lucro e o Tesouro foi lesado. Os caras sentiram cheiro de sangue. Já vi isso antes.
– Tudo bem, Carlos, isto é o que eles dizem. Mas eu quero saber de você, não deles, o seguinte: eles têm ou não o direito de me tomar toda essa grana? Estou interessado em sua opinião, não em detalhes técnicos, não entendo nada disso. Tenho ou não tenho que pagar a porra do dinheiro? – A irritação ia num crescendo.
Goicochea estudara profundamente o caso. Mas não podia simplesmente dizer “pague” ou “não pague”. Era preciso considerar todos os ângulos da questão. Esperou o patrão se acalmar. Então, explicou pacientemente:
– Precisamos levar em conta quatro aspectos. Número um: todas as operações, embora legais, foram feitas na fronteira entre a legalidade e a ilegalidade. Melhor dizendo, estavam dentro da lei, mas eram contrárias ao espírito da lei. Aspecto número dois: se você não pagar, o SIR vai enviar um batalhão de fiscais para cá. Vão vasculhar sua vida na Associados, no Manhattan, até na cadeia Bars, que já foi vendida.
A secretária chamou pelo interfone. Julius, cada vez mais irritado, não se preocupou em saber do que se tratava.
– Diane, eu não estou nem para Deus. Continue, Carlos, por favor.
– Continuando, aspecto número três: com essa investigação no Senado e com esse repórter do Potomac Herald no seu pé, você está muito vulnerável. Todos vão acreditar em sua culpa no crime de sonegação. Aspecto número quatro e mais importante: se fizer um acordo e pagar os 120 milhões, estará recebendo um atestado de quitação com o SIR, valendo até o dia de hoje.
O contador sabia da importância de sua opinião. Ela poderia representar para Julius Clarence uma perda de 120 milhões de dólares. Por outro lado, uma decisão errada poderia jogá-lo na cadeia. Pesou tudo ao fazer sua recomendação final.
– Julius, se você tem algo escondido, alguma coisa da qual eu não tenha conhecimento mas que possa ser descoberta em uma varredura completa, faça o acordo com os homens do governo. Mas, se não existe nada, nada mesmo, vamos para a briga. Vamos ganhar essa parada.
Clarence pensou em sua vida pregressa. Lembrou-se do início da Associados, quando usara o dinheiro dos clientes, indevidamente, sem lastro. Pensou na sociedade com Al-Kabar. Poderia ser descoberta.
Só havia uma resposta. Esperou algum tempo, apenas para que seu contador não imaginasse um monte de irregularidades em sua vida. Mas, quando falou, foi incisivo:
– Vou pagar os 120 milhões aos filhos-da-puta. Não quero um monte de tiras e fiscais aqui no escritório. Vou acabar perdendo mais dinheiro. Assunto encerrado.
Faltava ainda a investigação no Senado. Agora, além do Herald, havia outros jornais em cima dele. Enquanto o dia 25 de março – data marcada para o depoimento no Comitê – não chegava, a Associados e o Manhattan não faziam outra coisa a não ser perder dinheiro.
Rutger Olen intensificara sua campanha. Um sentimento contra Clarence se apoderara do mercado. Suas atividades eram antiamericanas, diziam os profissionais. Instituições, até algumas semanas atrás ávidas por fazer negócios com a Associados, fechavam-lhe suas portas, desconectavam suas linhas diretas com a Liberty Tower.
O affaire Julius Clarence já rivalizava na mídia com o escândalo Watergate. Tudo por causa de um senador populista e demagogo e um jornalista inescrupuloso. Julius sabia disso, mas nada podia fazer. Restava preparar-se adequadamente para o depoimento do dia 25 e, então, libertar-se do pesadelo. Durante uma semana, não fez outra coisa a não ser reunir-se com Walter O’Connor, advogado indicado por Richard Bradley para prestar-lhe assistência junto ao comitê do Senado.
Antes mesmo da primeira sessão, Rutger Olen já conseguira seu principal objetivo: publicidade. Entrevistado, costa a costa, para a enorme audiência do US Around the Clock, esclareceu ao popular entrevistador Colin Carpenter:
– Meu comitê vai apurar os prejuízos causados aos consumidores americanos pelas atividades especulativas de Julius Clarence no mercado de petróleo. Iremos descobrir tudo – disse, olhando para a luzinha vermelha da câmera, pensando nos votos atrás dela.
Mas Clarence não se limitou à defensiva. Encarregou Alan Payne de investigar, discretamente, o senador Olen. Reciprocamente, o comitê vasculhou a vida de Julius. Investigadores foram enviados a Davenport, Chicago, Roterdã e Nova York. A imprensa foi fartamente municiada de fatos e, até, de rumores sem consistência.
Em Washington, o escriba do Herald comemorava seu sucesso inesperado. Chegou a faltar a duas sessões de pôquer. Pagou suas dívidas aos agiotas e ainda obteve um aumento de salário.
No recôndito de seu íntimo, sonhou com um Pulitzer.
Às 11h da manhã da segunda-feira, 25 de março de 1974, instalou-se, no prédio antigo do Senado, o Comitê Julius Clarence, como era conhecido na imprensa.
Olen e outros senadores sentavam-se a uma mesa elevada, com o formato de um U. Ao fundo, o grande selo dos Estados Unidos deixava clara a presença de um dos três poderes da República. À frente deles, em uma mesa coberta de feltro, Julius Clarence, entre Jessica e o advogado Walter O’Connor. Na audiência, dezenas de espectadores e grande número de jornalistas. Bem ao fundo, junto a uma lareira de mármore, de pé, sóbrio, queixo erguido, o repórter Geoffrey Donner, do Potomac Herald.
Iniciando os trabalhos, Olen leu uma declaração previamente preparada:
– Estamos reunidos para apurar as atividades de Julius Clarence, aqui presente, contrárias ao povo dos Estados Unidos. Ao longo dos depoimentos, iremos ver o quanto os negócios escusos deste nocivo especulador de Wall Street prejudicaram os consumidores. Enquanto os trabalhadores, donas-de-casa e aposentados americanos assistiam à corrosão de seus salários e pensões, provocada pela inflação, o senhor Clarence se encheu de dinheiro com a alta do petróleo.
O senador continuou seu blablablá. Cada frase de seu discurso fora escolhida a dedo, por seus assessores, para figurar nas manchetes dos jornais. Sua fala continha apenas retórica, nenhum conteúdo. Em momento algum demonstrou que Clarence tivera alguma parcela de culpa na alta dos combustíveis.
Julius seria o primeiro a depor. Enquanto aguardava sua vez, via crescer dentro de si uma enorme indignação contra Olen. Mas os conselhos de Walter O’Connor haviam sido claros.
– Durante o interrogatório – dissera o advogado –, é importante não provocar a ira do senador. O comitê não é um tribunal, não pode condená-lo a nada. Poderá, no máximo, remeter à Justiça as atas das reuniões. Só um promotor poderá processá-lo, caso algum crime tenha sido caracterizado durante as sessões do comitê. Mas não creio ser o caso. Olen quer apenas espaço na mídia, eleger-se à sua custa. Em duas ou três semanas tudo estará terminado. Responda sempre a verdade, apenas sim ou não. Mas, pelo amor de Deus, Julius, deixe o senador conduzir seu show.
Mas, à medida que Olen arrazoava sua arenga, o sangue irlandês ferveu nas veias de Clarence. O especulador frio e calculista deu lugar a um guerreiro combativo, talvez um resquício de seus antepassados do Ulster. Esperou ansiosamente a sua vez de falar. Afagou a mão de Jessica. Depois, fechou os punhos, preparando-se para lutar.
Finalmente, chegou a hora. Olen terminou sua declaração, juntou e alinhou as folhas de papel – mais tarde, entregaria cópias à imprensa –, sorriu satisfeito para os outros senadores, passeou os olhos pela audiência e, por fim, encarou Julius Clarence.
Perguntou de supetão:
– Senhor Clarence, nos últimos seis meses, o preço do petróleo subiu de 3 dólares para quase 20. Segundo farta documentação em meu poder, o senhor ganhou uma fortuna com essa alta. Confirma isso?
Julius não se deu ao trabalho de levantar-se. Para desespero de O’Connor, disse apenas:
– Não.
Um murmúrio correu pela audiência e pela mesa. Rutger Olen ficou exultante. Jamais pudera imaginar circunstâncias tão favoráveis. Então, ele negava. Tinha todas as provas consigo e ele negava. Fuzilou:
– Senhor Clarence. Isto aqui é o Senado dos Estados Unidos. Este é um comitê de investigação, legalmente constituído. O senhor não pode mentir perante esta casa e sair impune. Tenho aqui dezenas de provas, inclusive balanços e balancetes com sua assinatura, demonstrando a obtenção de lucros, eu diria obscenos, à custa do aumento do petróleo. E o senhor diz não. Mas tenho a paciência como uma de minhas virtudes. Vou repetir a pergunta. O senhor ganhou uma fort...
– Não – disse Julius abruptamente.
Olen agora estava furioso. Remexeu sua papelada, chamou alguns assessores, falou com os colegas. Depois, passou a ler para a audiência, desordenadamente, ora recortes de jornais, ora balanços da Associados, tentando demonstrar os lucros obtidos pelo megaespeculador. Conseguiu apenas um amontoado de dados e números desconexos.
Pela primeira vez, temeu uma derrota. Não, isso não podia acontecer, não em seu comitê. Os números provavam tudo. Bastaria demonstrá-los, com calma. Reorganizou-se mentalmente. Perguntou pela terceira vez:
– O senhor gan...
– Não.
– O senhor quer fazer o favor de explicar melhor sua negativa? – Olen não iria deixar-se derrotar por seus próprios nervos.
Clarence, então, levantou-se, retirou o microfone do encaixe, olhou carinhosamente para Jessica, sorriu para O’Connor e começou a falar.
– Obrigado pela consideração, senador. Até então, eu pensava que as pessoas só podiam dizer “sim” ou “não” para o senhor. Obrigado pela oportunidade de me explicar melhor. Infelizmente, não trouxe uma pilha de papéis, como o senhor, mas tenho boa memória para números. Sempre lidei com eles, desde menino, quando fazia a contabilidade do armazém de meu pai, em Davenport, Iowa. Seus homens estiveram lá na semana passada, indagando a meu respeito. Só de uísque, beberam 90 dólares no bar do hotel, à custa dos contribuintes. O armazém ainda existe. Mas, passando ao petróleo, os números são recentes. Estão vivos em minha memória. Se todos tiverem a bondade de pegar lápis e papel, poderão seguir meu raciocínio.
Um cinegrafista abaixou-se à sua frente e colheu um take prolongado. Julius sorriu para a objetiva e, sem consultar nenhuma anotação, nem mesmo recorrer a uma calculadora, prosseguiu:
– Há muitos anos, eu esperava um forte aumento no preço do ouro e do petróleo. Nosso país gasta muito mais do que arrecada. Inundamos o mundo com emissões de papel-moeda. Não poderíamos manter, indefinidamente, o ouro valendo 35 dólares. Por isso, investi em barras de ouro na Europa. Quanto ao petróleo, seu futuro era ainda mais previsível. Fabricamos carros enormes, gastamos uma fortuna com óleo de aquecimento no inverno e com ar condicionado no verão, consumimos um terço do petróleo produzido no planeta, cinco vezes o consumo da China, com 1 bilhão de habitantes. Enquanto isso, nossas reservas vêm caindo assustadoramente. Em 50 anos, passamos de maiores exportadores a maiores importadores. Não era difícil prever a alta do petróleo. Nos dois mercados, ouro e petróleo, ganhei 500 milhões.
Olen gostou da última afirmativa. Já ia voltar a falar quando Julius o atropelou:
– Para comprar tanto ouro e petróleo, precisei de muito capital de giro, mais de 3 bilhões. Recorri a empréstimos. Paguei, só de juros, 60 milhões. Para os governos da Holanda e da Suíça, deixei, de impostos, 91 milhões. Com o transporte, a custódia e o seguro das barras de ouro, gastei 2 milhões e 600 mil. Para negociar petróleo, abri um escritório em Roterdã. Juntando as despesas do escritório ao custo do frete de petroleiros, mais estiva e seguro, desembolsei 6 milhões. No manuseio do petróleo perde-se alguma coisa. No meu caso, 800 mil.
Clarence indagou se estava sendo rápido demais. Ninguém disse nada.
– Não fiz todas essas operações apenas em meu nome e no de minhas empresas – continuou ele. – Usei fundos das carteiras administradas por mim. Elas ficaram com boa parte do lucro, exatamente 130 milhões. O imposto de renda americano levou 120 milhões. Finalmente, o ilustre senador Rutger Olen criou este comitê. A imprensa me julgou e me condenou. Para evitar uma grande queda no preço das ações de meu banco, o Comercial de Manhattan, gastei 74 milhões. Com meu nome difamado na imprensa todos os dias, os clientes fugiram da Clarence & Associados. Só de receita de corretagens e taxas de administração de fundos, deixei de faturar 16 milhões nas últimas quatro semanas. Senhores membros do comitê, se eu ainda sei fazer contas, perdi, nos mercados de ouro e petróleo, 400 mil dólares. Por isso disse “não” à pergunta do senador Olen.
Alguns repórteres saíram para telefonar. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Julius ignorou a algazarra e sentou-se calmamente.
Olen, completamente desorientado, ainda tentou dar prosseguimento à reunião. Desistiu logo. Era um crápula, mas não era burro. De nada adiantava prosseguir com os trabalhos. Seriam mais pontos positivos para Julius Clarence, mais derrotas para si. Depois, disfarçadamente, longe da imprensa, dissolveria o comitê. Ainda havia tempo para as eleições na Geórgia. Encontraria outro bode expiatório para garantir seus votos.
A demonstração verbal de Julius Clarence não passaria por uma auditoria rigorosa. Fizera superposição de gastos, não mencionara o fato de que as carteiras administradas haviam absorvido grande parte dos impostos e juros bancários. Os impostos pagos na Holanda e na Suíça seriam dedutíveis de seus congêneres americanos. Também omitira isso. Mesmo deduzindo os 120 milhões pagos ao SIR, e as perdas causadas pela crise, ainda restaria um bom lucro na operação do petróleo.
Geoffrey Donner também não se saiu tão mal do episódio. Com o que recebera de Olen, pudera pagar aos agiotas. Viu seu Pulitzer e seu prestígio voarem pela janela, é verdade. Mas ainda havia as noites de quinta-feira, quando o baralho corria de mão em mão. Aquele four de oitos continuava engasgado em sua garganta.
No verão daquele ano, Clarence levou Jessica às ilhas gregas. Estava lá quando Nixon renunciou. Voltou à Liberty Tower no início de setembro.
CAPÍTULO 67
Ao voltar das férias, ávido por recuperar o dinheiro pago ao imposto de renda e os prejuízos causados pelo senador Olen, Julius encontrou os especuladores excitados. Só falavam de açúcar. Metade estava comprada, apostando na alta. A outra metade vendida, jogando na baixa.
Desde o início do ano, a cotação da libra-peso já subira de 9 para 30 centavos, a maior de todos os tempos, no mercado futuro. E, segundo os analistas, poderia subir mais, muito mais.
Tentando criar um clima favorável à alta, os operadores comprados comentavam ao telefone: “Vai faltar açúcar no próximo ano.” Diziam isso baixando a voz, como se passassem um segredo, uma dica de colega para colega, camaradagem de profissional. Os vendidos refutavam: “Os preços não se sustentam neste nível, o mercado vai desabar.”
Mas nem só os especuladores de Nova York se preocupavam com o açúcar. Em Havana, Fidel Castro tentava descobrir a maneira mais fácil, mais discreta e menos dispendiosa de importar 1 milhão de toneladas do produto.
De acordo com as últimas pesquisas de campo, feitas pelos técnicos do governo, a safra total da ilha, naquela temporada, seria de 5 milhões de toneladas.
O fato em si seria alvissareiro, tendo em vista as altas cotações internacionais. Não fosse um detalhe. Na ânsia de aproveitar os preços altos, e baseados em estimativas erradas de produção, os cubanos haviam vendido, para entrega futura, aos russos e a diversas tradings européias, 6 milhões de toneladas.
O milhão que faltava precisaria ser comprado no mercado internacional, para ser, então, reexportado. No mais absoluto sigilo. Se o mercado suspeitasse que Cuba iria importar açúcar, os preços iriam à estratosfera e a ilha sofreria enorme prejuízo.
Caminhos tortuosos levaram Fidel Castro a Julius Clarence.
Um dos mercadores da noite, Jacques Constantine, antigo operador da Casa Rothschild, transferira-se para a tradicional e centenária Sucre des Caraïbes. Lá, operava açúcar. Através da Sucre, Cuba colocava a parte de sua produção não destinada à União Soviética. O presidente da empresa, JeanClaude Cory, foi chamado a Havana. Levou consigo Constantine. Para surpresa de ambos, conduziram-nos à presença do primeiro-ministro cubano.
Castro expôs seu problema e os franceses pediram 24 horas para estudá-lo. No dia seguinte, sugeriram entregar a operação a Julius Clarence, o megaespeculador nova-iorquino.
Fidel não gostou da sugestão.
– Acho que não fui bem entendido. Precisamos de 1 milhão de toneladas. Mas só nós, e agora os senhores, sabemos disso. Se os especuladores suspeitarem que Cuba precisa de todo esse açúcar, o preço vai dobrar.
– Comandante, Clarence encontrará uma maneira de Cuba conseguir seu açúcar sem perder dinheiro. Eu o conheço bem. É o melhor estrategista de mercado que existe.
O primeiro-ministro refletiu. Gostava de soluções heterodoxas. Já lera sobre Clarence e seus negócios com petróleo. Quem sabe os franceses tinham razão? Talvez fosse uma boa estratégia entregar o caso a um especulador profissional. Não havia muitos em Cuba naqueles tempos revolucionários.
Entre curioso e desconfiado, aceitou a sugestão dos franceses.
Os homens da Sucre des Caraïbes eram bons quando se tratava de manter sigilo. Por isso, mereciam a confiança de Cuba e de outros países socialistas. Mesmo assim, no retorno a Paris, Jean-Claude e Jacques tomaram precauções extraordinárias. Nada disseram aos demais executivos sobre a necessidade cubana.
Constantine telefonou a Julius marcando um encontro para o dia seguinte, sábado. Antoine levou o francês diretamente do Kennedy para Greenwich. Quando regressou a Paris, domingo à noite, Constantine levou consigo um plano simples e imaginoso. Todos sairiam ganhando: a Associados, a Sucre des Caraïbes e Cuba.
Mas, embora Clarence não pudesse suspeitá-lo, haveria um ganhador ainda maior: Clive Maugh, naquele instante estudando gráficos de açúcar do outro lado do Atlântico.
CAPÍTULO 68
René Russon morreu como um justo. Serenamente, enquanto dormia. Não exalou um suspiro, não sentiu qualquer dor. O Sindicato foi pego de surpresa. O banqueiro era viúvo, não tinha filhos nem herdeiros. Há anos especulava-se no banco sobre o que aconteceria após sua morte.
Em ambiente de grande expectativa, os membros do Comitê Diretor reuniram-se com os advogados para a leitura do testamento. O documento era claro. O presidente do Sindicato deixava suas ações para uma fundação. Não para uma instituição beneficente, como costumam fazer os muito ricos, quando lhes faltam herdeiros. O único objetivo da Fundação René Russon era perpetuar o Banco Centro-Europeu de Lausanne, um banco sem donos ou sucessores, dirigido por profissionais.
Na ausência definitiva do fundador, o Comitê Diretor tornava-se o poder máximo, cada membro com direito a um voto. Teriam remunerações diferentes, o cálculo feito por um complexo sistema de pontuação, minuciosamente detalhado no testamento, baseado no lucro gerado por membro. Jacques Schneider, da Contabilidade e Controle, ao contrário dos colegas, teria uma remuneração fixa. Caberia a ele calcular e controlar a pontuação dos colegas.
Qualquer diretor poderia ser demitido, bastando, para isso, o voto da maioria do colegiado. Já a contratação de um substituto tornava-se mais difícil. Seria necessária unanimidade. Ao completar 70 anos, os diretores ver-se-iam automaticamente aposentados, passando a receber 200 mil francos anuais, até o fim da vida, desde que não trabalhassem para outro banco.
Através do testamento, Russon demitia Jean Lesneur. Este receberia, como indenização, 2 milhões de francos e mais 200 mil anuais. Clive Maugh ocuparia seu lugar. Com a substituição, explicava o legado do falecido, procurava-se evitar superposição de funções.
Se alguém não gostou da substituição de Lesneur por Maugh, guardou a insatisfação para si. Enquanto Jean, perplexo, deixava o recinto, o inglês foi notificado da promoção. Juntou-se aos novos colegas e soube dos termos do testamento. Exultou. O novo sistema de gratificações faria dele, em pouco tempo, o mais poderoso dirigente do Sindicato.
De saída, pretendia ganhar uma fortuna para o banco no mercado de açúcar.
Enquanto o Sindicato se reorganizava, em Havana, Jacques Constantine, mais uma vez, era levado a Fidel Castro.
– Conversou com o especulador? – interpelou Fidel, dando uma baforada em seu charuto.
– Conversei, comandante. Mais que isso. Consegui dele um plano para resolver o problema da falta do milhão de toneladas. Precisamos apenas de sua autorização para detonar o processo.
– Estou ouvindo. – Castro exalou uma fumaça azulada.
– A Clarence & Associados, a corretora de Julius Clarence – explicou o francês. – Pois bem, a Associados venderá a Cuba 1 milhão de toneladas pelo preço atual de mercado, 30 centavos. Em virtude do boicote americano, o negócio será feito pela Sucre des Caraïbes.
– Ótimo para nós – disse Fidel. – Resolverá nosso problema. Mas, quanto ao senhor Clarence, não consigo entender como ele ganhará dinheiro nos vendendo ao preço de mercado.
– Posso explicar, comandante. Em contrapartida pela venda do açúcar a Cuba, Clarence exige que os senhores suspendam todas as entregas de açúcar bruto no mercado internacional. Cuba poderá fornecer apenas açúcar refinado, açúcar branco, como nós profissionais o chamamos.
– Impossível. Devemos 6 milhões de toneladas à União Soviética e a várias tradings européias. Não temos condições de refinar tanto açúcar.
– Clarence sabe disso – Constantine apressou-se em esclarecer. – Ele sugere que Cuba envie o açúcar bruto para usinas soviéticas. Atualmente elas estão com grande capacidade ociosa, devido à pouca disponibilidade de matéria-prima no mercado, para transformação em branco. De posse do refinado, os senhores poderão vendê-lo a quem bem entenderem, por qualquer preço, quando acharem melhor.
– É possível, mas... – Fidel não percebia aonde o especulador americano queria chegar. – Senhor Jacques – disse ele –, continuo sem entender o que o senhor Clarence vai ganhar com tudo isto. A não ser, é claro, que tenha se tornado, subitamente, colaborador de nosso movimento revolucionário.
– Comandante, se Cuba refinar 6 milhões de toneladas na União Soviética, quando chegar o mês de novembro o mercado estará suficientemente abastecido de açúcar refinado. Mas vai faltar açúcar bruto. E a Bolsa de Futuros de Nova York não negocia refinado, apenas bruto. É uma operação rotineira refinar açúcar, mas é impossível transformá-lo de volta em produto bruto. Se o senhor concordar com a operação, Clarence irá comprar algumas toneladas de açúcar bruto para março e exigir a entrega. Ninguém vai ter açúcar para entregar. Ele, então, poderá ganhar alguma coisa, além, evidentemente, da satisfação de ter colaborado com a solução do problema dos senhores.
– O senhor Clarence é realmente um homem talentoso. Diga a ele que pode mandar o açúcar para nós. Negócio fechado, não é assim que vocês falam?
Na Associados somente Bernard conhecia os planos de Julius quando este, em outubro, comprou 1 milhão de toneladas no mercado internacional e as vendeu imediatamente a Cuba, via França. Ao mesmo tempo, adquiriu, no mercado futuro de Nova York, outro milhão, para recebimento em março. A Sucre des Caraïbes também comprou um milhão de “março”. Em Lausanne, Clive Maugh, cujos gráficos indicavam uma iminente alta nos preços, comprou 2 milhões para o Sindicato.
Cumprindo sua parte no acordo, o governo de Cuba enviou todo o seu açúcar bruto para ser refinado na União Soviética. Em novembro, Clarence e a Sucre des Caraïbes anunciaram a intenção de exigir a entrega de 2 milhões de toneladas de açúcar bruto no porto de Nova York. Para surpresa de Julius, o Centro-Europeu anunciou o mesmo, elevando o total para 4 milhões.
Embora, àquela altura, houvesse bastante refinado no mercado, procedente da União Soviética, não havia bruto suficiente para entrega a tempo. Os especuladores vendidos entraram em pânico. Seria impossível conseguir os 4 milhões. Na tentativa desesperada de cobrir suas posições vendidas, elevaram a cotação do mercado futuro de Nova York para incríveis 65 centavos por libra-peso, a maior de todos os tempos.
Julius liquidou sua posição com um lucro de 200 milhões, recuperando o dinheiro pago, no início do ano, ao imposto de renda e todas as perdas causadas pelo senador Olen.
Dias depois encontrava-se na suíte usufruindo o aroma de um Cohiba Exquisito, enviado por Fidel Castro, quando recebeu um telefonema desesperado de David Lowell. As Lojas Bars encontravam-se em sérias dificuldades.
CAPÍTULO 69
Francine Clarence, agora novamente Kéraudy, restabeleceu-se. Retornou a Paris, onde Bernadette a aguardava no apartamento da Avenue Foch, e a seus estudos na Polytechnique. Só não retornou à felicidade. Mas isso ela guardava para si. Quanto a homens, se já eram complicados para ela antes de conhecer Julius Clarence, agora nunca mais.
O pai, Louis Kéraudy, encontrava-se muito doente. Dividia seu tempo entre a fábrica e um penoso tratamento para combater o linfoma que o consumia, de maneira lenta e inexorável. A villa de Montaigut-sur-Save tornara-se ainda mais triste. Na fábrica, engenheiros e operários acompanhavam preocupados a doença do industrial e o desinteresse da filha pelo negócio. Governo, fornecedores e clientes compartilhavam da preocupação.
A década de 1970 iniciava sua segunda metade. No Vietnã, as tropas do general Giap liquidavam, um após outro, os últimos bolsões de resistência do Sul e aproximavam-se celeremente de Saigon. A Arábia Saudita, o Kuwait e a Venezuela nacionalizavam a exploração de petróleo em seus territórios, exatamente como previra Al-Kabar.
Julius pensava justamente em Abdul, e no acerto de suas previsões, quando Diane anunciou a chegada do senhor Lowell. Clarence avaliava o quanto deveria ser penoso para David ter de recorrer a ele. Para não fazê-lo esperar, subiu rapidamente à suíte, para onde mandou conduzir o visitante. Procurou ser o mais cordial possível.
– Há quanto tempo não nos vemos, David... Um ano? Mais, não?
– Dezesseis meses, desde aquela desagradável reunião lá em Boston. Foi em setembro de 1973. Tudo vem dando errado desde aquele dia. Mas, e você, como está? E Jessica?
– Ela está ótima, David. Mandou lembranças para você. Para nós, também, as coisas não têm sido fáceis. Você deve ter lido nos jornais, o senador Olen tentou acabar comigo. O filho-da-puta quase conseguiu. Felizmente, já passou. Mas, conte-me. O que está acontecendo com as lojas?
– Está tudo péssimo, Julius. Tínhamos estrutura para administrar as lojas da Nova Inglaterra, não a cadeia montada por você. Desde a sua saída, as vendas caíram, os prejuízos se acumulam. As Lojas Bars não são mais competitivas.
Clarence ouvia atentamente.
– Na última assembléia geral – David prosseguiu – anunciamos uma redução drástica nos dividendos. Os acionistas não gostaram e sofremos críticas severas. Foi constrangedor. Tem sido constrangedor desde o início. Fomos acusados de prejudicar a empresa por questões pessoais. Eles têm razão, tivemos que ouvir tudo calados. Só agora percebemos, até mesmo o Andrew, que não tínhamos o direito de mudar a direção da empresa por um assunto que só interessava à família e a mais ninguém. Por isso estou aqui para tentar remediar as coisas.
Julius ia esboçar um comentário, mas foi contido por David.
– Não vou dizer agora que não fiquei magoado. O Andrew é meu irmão, nós todos éramos muito ligados à Jessica. Você era nosso amigo, quase da família. Mas eu vim aqui a negócios, não para falar de nossos sentimentos. As lojas vão mal e alguma coisa precisa ser feita. Precisamos vender parte das ações, para capitalizar a empresa, mas, antes de fazermos uma oferta pública, queremos saber se existe algum interesse de sua parte; você foi o melhor administrador que as Bars tiveram até hoje. Problemas pessoais à parte, temos grande admiração por seu talento. Concordamos em passar o controle, mas gostaríamos de continuar como acionistas, mesmo minoritários. Não vai ser fácil aceitar um papel secundário, mas você pode salvar as Bars. Isso é de nosso interesse, e nós o devemos também aos acionistas.
Julius foi franco:
– Você deve compreender, David, não encaixei muito bem a perda das lojas, principalmente da maneira como tudo foi feito. Lamentei também pelos outros acionistas. Foram prejudicados.
E concluiu, já agora falando em um tom puramente comercial:
– Por certo estou interessado. Vou encomendar um levantamento a meus auditores. Quando terminarem, terei uma proposta. Mas posso fazer uma coisa que irá ajudando as Lojas Bars desde já. Vou informar à Comissão de Títulos e Câmbio que pretendo fazer uma proposta pela empresa. Isso vai fazer o papel subir na bolsa.
Quando, no dia seguinte, o mercado soube da possibilidade de a cadeia Bars voltar a ser administrada por Julius Clarence, o papel subiu 5%, fechando em 27 dólares, a melhor cotação dos últimos três meses. Julius agira de maneira esperta. Se os Lowells viessem a recusar sua proposta, qualquer que fosse, as ações voltariam a cair. Não tinham muita escolha.
Quatro semanas depois, Clarence retomou as Lojas Bars, desta vez garantindo para si o controle acionário. Poderia ter “matado” os Lowells, mas, por causa de Jessica e dos velhos tempos, não o fez. Pagou-lhes 75 milhões e comprometeu-se a investir outro tanto no saneamento financeiro da cadeia e na expansão do número de lojas. A central de compras e o comando retornaram a Nova York.
CAPÍTULO 70
Francine encontrava-se à mesa do jantar, com Bernadette, quando telefonaram de Toulouse. Louis Kéraudy estava morto. Pessoas influentes retardaram um vôo noturno e, à meia-noite, ela já velava o corpo do pai no grande salão de Montaigut-sur-Save.
No dia seguinte, à tarde, autoridades, à frente o presidente Giscard d’Estaing, altas patentes militares, empregados da Midi-Pyrénées, uma multidão de curiosos e os poucos amigos e familiares acompanharam as cerimônias fúnebres e o sepultamento. Clarence não foi, não dava tempo. Telefonou e enviou uma coroa de flores.
No pequeno cemitério de Montaigut-sur-Save, Francine, sob uma garoa fina, recebeu os cumprimentos de pêsames. Quando retornou à mansão, exausta pela noite não dormida, Jean-Loup Delannoy, advogado da família e da Midi-Pyrénées, encontrava-se a sua espera, ansioso. Mesmo enfrentando o olhar recriminador de Bernadette, Delannoy não perdeu tempo.
– Ah... madame Kéraudy, ah... por favor, me desculpe, mas a morte prematura de seu pai fez surgir um problema urgentíssimo de sucessão. Certamente está extenuada, sei disso, mas lhe rogo que compareça amanhã, pela manhã, à fábrica. Precisamos colocá-la a par dos negócios. Será necessária sua assinatura em diversos documentos. São coisas urgentes, de seu próprio interesse. Mando um carro pegá-la, ah... digamos, às 8h30, se não se importa, é claro.
Bernadette ia protestar quando Francine assentiu.
– Mande o carro, senhor Delannoy. Estarei à espera.
Alguém poderia passar diversas vezes pela auto-estrada que acompanha o vale do Garonne, de Toulouse para noroeste, na direção de Bordeaux, sem notar, à direita, logo após a ponte sobre o Girou, o complexo industrial da Midi-Pyrénées.
Não que fosse pequeno. Ao contrário. Juntando o edifício-sede, o galpão industrial, o aeroporto e o campo de testes de superfície, a indústria de Louis Kéraudy, agora de sua filha Francine, ocupava 10 hectares. Mas seus projetistas a haviam concebido exatamente para passar despercebida.
Para buscar Francine, Delannoy enviou o Citroën DS 19, usado apenas por dignitários e clientes importantes em visita à fábrica. O longo veículo deixou a mansão pontualmente às 8h30 e seguiu para nordeste, serpenteando o Save. Após cruzar o Garonne, em Ondes, o motorista virou para sudeste. Pegou, então, a auto-estrada, rumo sul, como se estivesse indo para Toulouse. Minutos depois, deixou a rodovia principal e tomou uma via secundária, à esquerda, desprovida de sinalização.
Percorreu apenas 200m, ultrapassou uma lombada e parou junto a uma guarita. O guarda conhecia o carro, o motorista e fora alertado a respeito da madame. Mesmo assim, deu uma rápida olhada no interior do veículo e, só então, levantou o travessão. Enquanto o Citroën se afastava em direção ao edifício principal, 500m à frente, após uma segunda lombada, o guarda, usando o interfone, comunicou à chefia a chegada da senhora Kéraudy.
Mais uma guarita, uma segunda verificação, e Francine viu-se à frente do escritório central, onde Delannoy a aguardava satisfeito. O advogado beijou-lhe a mão. Ela fora pontual e, como tudo indicava, não deveria oferecer resistência a seus planos. Se fosse objetivo, antes do almoço tudo estaria concluído.
Dos seis andares do prédio, só metade encontrava-se acima da superfície. Francine foi levada a uma sala de reuniões no último andar. Quatro pessoas já se achavam sentadas à mesa retangular. Levantaram-se à sua chegada. Ela foi conduzida ao lugar do pai, à cabeceira. Delannoy ocupou a cadeira adjacente, à sua direita.
Todos voltaram a sentar-se. Foram feitas as apresentações. Havia na mesa mais um advogado, Richard Malle, o contador Maurice Cocteau, decano dos empregados, Alain Brialy, representando o governo francês, e, estranhamente, Jean-Claude Levent, diretor da Croix de Marseille, concorrente da Midi-Pyrénées na fabricação de mísseis. Delannoy iniciou sua exposição:
– Madame, senhores. Como sabemos, Louis Kéraudy, o Senhor o tenha, deixou apenas um herdeiro, uma herdeira, melhor dizendo, madame Francine Kéraudy, aqui presente. Desde ontem, ela é a única proprietária da Midi-Pyrénées.
O semblante de Francine não demonstrou qualquer emoção especial.
– Madame Kéraudy estuda Arquitetura em Paris – prosseguiu o advogado – e, certamente, tem seus próprios projetos pessoais. Como sabemos, nunca se envolveu com os negócios do pai, nada próprios à natureza feminina, tomo a liberdade de acrescentar.
Francine continuou calada. Estimulado por seu silêncio, Delannoy prosseguiu. Seria mais fácil do que pensara.
– Mesmo assim, como única herdeira, ela poderá fazer da empresa o que achar mais conveniente. – Colocou a mão esquerda sobre o ombro de Francine, em atitude paternal, e enxugou em seus próprios olhos, com a mão, uma lágrima inexistente. Abaixou o tom de voz.
– Na qualidade de advogado do falecido, proponho, no interesse de Francine Kéraudy, dos empregados da Midi-Pyrénées e, por que não dizer, da própria França, a venda da empresa à Croix de Marseille, sua única concorrente no país, aqui representada pelo senhor Levent. Sugiro como preço o valor patrimonial, fixado em 750 milhões de francos em recente auditoria. Essa importância poderá ser repassada imediatamente a madame Kéraudy.
Francine continuou muda.
– O senhor Brialy – prosseguiu ele –, representante do governo, aqui presente, me fez ver, nos últimos dias, sua preocupação de que a obra de Louis Kéraudy não sofresse solução de continuidade.
Os olhares se fixaram em Francine. Caso ela concordasse com a sugestão, o decano Maurice Cocteau poderia transmitir a boa nova a seus colegas, o procurador do governo Alain Brialy informaria as autoridades em Paris e Jean-Claude Levent contabilizaria para a Croix de Marseille uma das maiores pechinchas da história da indústria de armamentos.
Os detalhes jurídicos não se constituiriam em problema. O advogado Richard Malle já tinha pronto o documento de transferência, a fim de submetê-lo a um juiz, tão logo fosse assinado pela herdeira. Mas Jean-Loup Delannoy tinha mais um argumento.
– Madame Kéraudy, preciso dizer-lhe algo extremamente confidencial. – Virou-se para os outros: – Peço que se retirem por alguns minutos. Eu os chamarei de volta em seguida.
Quanto só restaram os dois, Delannoy arrastou sua cadeira mais para junto da herdeira, tomou as mãos dela nas suas e falou-lhe, quase ao ouvido:
– Minha querida, nos últimos tempos, a Midi-Pyrénées vinha conduzindo uma venda de 500 mísseis ar-superfície Gendarme para a força aérea do Irã. Seu pai, ao morrer, tinha um encontro marcado, para daqui a um mês, com o próprio xá Reza Pahlevi, em Saint-Moritz, para tratar do assunto. Se a Croix de Marseille assumir rapidamente, eles poderão concluir o negócio. Se o perdermos, teremos sérios prejuízos. Já temos 200 mísseis prontos e estocados. Daí a urgência de sua decisão.
Francine não pretendia protelar nada. Tencionava assumir o negócio do pai. Se Louis Kéraudy desejasse vender sua empresa à Croix de Marseille, tê-lo-ia manifestado em vida ou em testamento.
Durante o velório, ela rememorara a infância triste, o abandono prematuro da mãe, os primeiros anos em Paris, seu difícil relacionamento com os homens. Lembrara-se de seus bons tempos com Julius Clarence em Greenwich, de Mississippi Saylor. Finalmente, da bebida e dos dias difíceis passados na clínica em Staten Island.
O que poderia esperar do futuro? Não pensava casar-se novamente. Sua mente só conseguia antever solidão. Então, por que não? Subitamente, produzir e vender armamentos, dirigir homens, fazer com que dependessem dela, mudar os destinos das guerras dava-lhe uma intensa sensação de poderio.
Quando o advogado Jean-Loup Delannoy chamou de volta os participantes da reunião, Francine Kéraudy informou-os, para desespero de todos, que, a partir daquele momento, assumia o comando da Midi-Pyrénées.
Durante um mês, Francine dedicou-se a conhecer os escritórios e as unidades industriais, tomou contato com os executivos, projetistas e operários. Examinou cada detalhe de empresa, conversou com cada um de seus empregados.
Entre as instalações destacava-se o galpão industrial, com sua forma abobadada, três quartos de sua área situados no subsolo. Essa unidade tinha uma formidável resistência horizontal. Suas paredes espessas fariam com que, em caso de explosão, o impacto se dirigisse para cima, não afetando os setores adjacentes. Esteiras rolantes conduziam os mísseis entre os diversos departamentos durante a fase de montagem.
Cada míssil compunha-se de três seções. Na parte frontal encontravam-se os componentes de orientação, formados basicamente de radares e sensores térmicos. Na segunda seção eram montadas as cargas explosivas, constituídas de TNT. Finalmente, a terceira, a parte de trás do míssil, compunha-se de aletas móveis, obedientes aos comandos automáticos instalados no nariz dos artefatos. Os mísseis da Midi-Pyrénées pertenciam a uma geração avançada de armas mortíferas conhecida nos meios militares como Classe FF (Fire and Forget).
Nas linhas de montagem, operários, altamente qualificados e remunerados, trabalhavam em compartimentos estanques, de tal maneira que nenhum deles conhecia o trabalho dos outros setores, mesmo os mais próximos. Somente alguns técnicos veteranos, de fidelidade comprovada, conheciam todo o processo de fabricação.
No edifício-sede localizava-se o Departamento de Projetos, onde engenheiros e físicos especializados em ciências aeronáuticas e espaciais trabalhavam sob a chefia do físico austríaco Erik Schwartz.
O restante da propriedade era ocupado por campos de provas ao ar livre, protegidos por dunas e elevações, cercas de arame farpado, muros altos e guaritas em posições estratégicas. Por baixo desses campos localizavam-se as áreas subterrâneas de testes. Finalmente, havia o aeroporto e o heliporto particulares.
Três palavras poderiam descrever a fábrica idealizada por Louis Kéraudy, agora herdada por sua filha Francine: qualidade, segurança e automação.
O setor comercial situava-se longe dali, numa mansão ampla e discreta, em Chantilly, ao norte de Paris. Lá, hábeis e experimentados vendedores conduziam as vendas dos mísseis planejados e montados no complexo de Toulouse a quem se dispusesse a comprá-los, guardadas algumas exceções eventuais, estabelecidas pelo governo francês.
Também em Chantilly localizava-se o setor de informações, onde agentes exclusivos, em sua maioria ex-oficiais, mantinham-se em dia com os acontecimentos do mundo, em particular mudanças políticas e atividades militares. Esses agentes sabiam quais as pessoas certas, em cujas contas bancárias, na Suíça ou em algum paraíso fiscal, um discreto e substancial depósito poderia significar o fechamento de uma lucrativa venda dos artefatos produzidos em Toulouse.
Em um mês, Francine inteirou-se de tudo. Assumiu as funções do pai, a princípio enfrentando a contrariedade dos subordinados, Contratou algumas poucas pessoas e demitiu outras, entre as quais Jean-Loup Delannoy.
Deixou o comando da mansão de Montaigut-sur-Save a cargo de Bernadette. Se ainda fosse vivo, Louis Kéraudy contemplaria, orgulhoso, sua única filha e herdeira assumindo, com gosto, sua fábrica, suas armaduras e seus galgos.
Um mês após o sepultamento do pai, Francine Kéraudy partia ao encontro de Sua Majestade Imperial Mohamed Reza Pahlevi.
CAPÍTULO 71
O xá possuía uma villa em Saint-Moritz, anexa ao Hotel Suvretta, onde passava anualmente uma temporada esquiando, em companhia da imperatriz Farah Diba e dos filhos; aproveitava a viagem para um check-up médico em Zurique. Eventualmente, recebia amigos, estadistas e empresários em sua villa de inverno.
Francine, desde pequena, conhecera alguns chefes de Estado graças às relações de seu pai. Mais tarde, enquanto casada com Julius Clarence, convivera com celebridades da América. Estava, portanto, habituada a lidar com pessoas importantes. Mas a entrevista com o xá era seu primeiro encontro com um monarca reinante. Junte-se a isso o fato de estar, pela primeira vez, conduzindo uma venda para a Midi-Pyrénées, uma operação da qual dependia o futuro da empresa. Daí seu nervosismo, enquanto aguardava o xainxá.
Desde o primeiro choque do petróleo, há pouco mais de um ano, o xá vinha tentando, com seus petrodólares, fazer do golfo Pérsico um mar iraniano. Sua intenção era transformar seu país na maior potência do Oriente Médio, dotada de uma máquina de guerra ao nível das mais poderosas do mundo.
O xá ostentava o título de Rei dos Reis, fazendo-se passar, aos olhos do mundo, por último descendente direto de Ciro, o Grande, arquiteto do Império Persa há dois milênios. Nada mais falso. O xainxá era filho de um coronel semi-analfabeto que, em 1921, coroara a si mesmo imperador ao final de uma rebelião contra a legítima dinastia persa. A linhagem de Pahlevi remontava, portanto, a exíguos 54 anos.
Desde sua subida ao trono, em 1941, o xá sustentava-se no poder à custa do apoio americano. Tornara-se também uma espécie de playboy do Oriente, tendo se casado primeiro com uma irmã do rei Farouk, do Egito, depois com uma mulher lindíssima, chamada Soraya, e, finalmente, com Farah Diba, uma estudante iraniana da Sorbonne não menos formosa.
Até o choque do petróleo, em 1973, o nome do xá era mais ligado à vida mundana de Paris, Cannes, Nova York, Londres e, na temporada de inverno, às pistas de esqui de Gstaad, Cortina d’Ampezzo e, mais recentemente, Saint-Moritz, onde edificara uma villa.
A Guerra do Yom Kippur e a subseqüente alta do petróleo mudaram tudo. O Irã tornara-se, praticamente da noite para o dia, possuidor de uma reserva que podia ser medida em dezenas de bilhões de dólares. O xá era agora cortejado pelos compradores americanos e japoneses, recebia em palácio Giscard d’Estaing, Gerald Ford, Harold Wilson, todos ansiosos por agradá-lo e, em troca, assinar contratos que garantissem a seus países o fluxo do precioso petróleo iraniano.
A vida mundana tornara-se um enfado. Reza Pahlevi desejava agora ser um notável líder militar, comandar um poderoso exército, respaldado, no golfo Pérsico, por uma esquadra naval de grande mobilidade e, nos céus do Oriente Médio, por uma força aérea moderna e bem equipada.
Ao final do inverno, em 1975, o Irã possuía 200 mil homens em armas na ativa, 300 aviões de combate, 500 helicópteros e 40 vasos de guerra. Munido de todo esse arsenal, o monarca podia sonhar mais alto. Pretendia ditar a política do petróleo a seus vizinhos árabes, mantendo-os sob a ameaça permanente de suas forças armadas.
Faltavam ainda alguns detalhes, dos quais o xá gostava de tratar pessoalmente, entre eles a compra dos Gendarmes. Os mísseis franceses, mais versáteis que seus congêneres americanos, tanto poderiam ser lançados dos caças-bombardeiros F-16 da Força Aérea Iraniana como dos ultramodernos helicópteros Cobra recentemente adquiridos dos Estados Unidos.
O xá impressionara-se com um teste secreto que assistira no mar Cáspio, patrocinado pela Midi-Pyrénées. Os mísseis poderiam ser usados no golfo Pérsico, ao sul. Uma vez disparados, seguiriam em velocidade próxima a Mach 1, voando a uma altura de apenas um metro e meio, sobre a crista das ondas, fora do alcance do radar inimigo. Quando atingissem a costa, os sensores térmicos os levariam até os poços e refinarias de petróleo do Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. O monarca gostara tanto que resolvera tratar da compra pessoalmente.
Francine Kéraudy desembarcou no Aeroporto Kloten, em Zurique, e seguiu para o Dolder, onde passou a noite. No dia seguinte, bem cedo, viajou em um bimotor fretado até o pequeno aeroporto de Samedan, espremido entre as montanhas. Um Mercedes 600 do xá a aguardava.
Como tinha várias horas de espera pela frente, ocupou uma suíte no Palace. Programara sua viagem de tal maneira que, se o aeroporto da cidade estivesse fechado pelo mau tempo, como ocorria freqüentemente, poderia seguir de trem ou de carro de Zurique a Saint-Moritz sem risco de atrasar-se para o encontro com o xá. Contrariando a opinião de seus diretores, Francine viajou sozinha. Não desejava testemunhas de eventuais inseguranças em seu primeiro encontro importante de negócios.
Às 5h da tarde, pontualmente, o xainxá a recebeu em uma das alas do chalé, especialmente reservada aos assuntos de Estado, os quais o Rei dos Reis nunca abandonava, mesmo quando em férias.
O soberano esquiara por toda a manhã nas encostas do Piz Nair, acompanhado de um batalhão de seguranças, almoçara e descansara. Estava de excelente humor ao sentar-se com a francesa junto a uma lareira.
– Aceite minhas condolências por seu pai. Um grande homem, um patriota. – O xá sabia ser galante e cortês.
– Obrigada, majestade. Agradeço também o telefonema de seu embaixador em Paris. Senti-me confortada pelo apreço. Foi um momento difícil. Para mim e para a Midi-Pyrénées.
– Por falar na empresa, senhora Kéraudy, estranhei vê-la dirigindo pessoalmente o negócio. Não imaginei que entendesse de mísseis. Na semana passada, quando meu cerimonial informou que viria no lugar de seu pai, percebi que, pela primeira vez, iria tratar de armas com uma mulher. Uma experiência diferente, confesso.
O xá sabia bem mais sobre Francine. Havia lido num sumário da Savak, sua temida e eficiente polícia secreta, que a herdeira assumira a fábrica do pai contra a vontade do governo francês. Fora casada com o megaespeculador americano Julius Clarence e já estivera internada por alcoolismo. O xainxá, homem dado a detalhes, determinara que, da bandeja de chá a ser servida durante o encontro, não constasse a habitual garrafa de licor de champanhe.
Embora estivesse tratando de uma vultosa compra de armas, o Rei dos Reis não pôde deixar de notar as pernas bem-feitas da francesa. Um pequeno ângulo formado pelas duas abas do chemise de Francine deixava à mostra a pele alva, um pouco acima do joelho.
O xá tinha um fraco por mulheres e, embora naquela ocasião estivesse mais interessado pelos mísseis do que pela jovem industrial à sua frente, desviava continuamente seu olhar para as pernas da interlocutora, deixando-a em visível desconforto. Percebendo-o, o xainxá desviou o olhar e dedicou-se exclusivamente aos mísseis.
– Na última reunião entre seu pai e meus ministros – disse ele – ficou acertado o preço, a quantidade, o prazo, o local de entrega e o fornecimento de assessoria técnica por dois anos ao pessoal de minha força aérea. O negócio só não foi fechado por causa da nossa exigência de exclusividade.
O Irã condicionava o negócio a um compromisso de Midi-Pyrénées pelo qual os franceses ficavam impedidos de vender o Gendarme a qualquer país do Oriente Médio.
Francine estava a par da exigência.
– O governo francês, senhor, tem como norma reservar para si a decisão sobre quem pode e quem não pode comprar nossos produtos. Por isso não pudemos garantir a exclusividade. Mas existe outro problema. Essa cláusula limita em muito o universo de venda dos mísseis.
O xá ficou satisfeito em ver que a francesa conhecia os fatos e que tinha argumentos. Gostava de negociar com pessoas inteligentes, principalmente quando tinham um joelho tão sedutor.
– Já resolvemos o problema com o governo – continuou ela. – Paris concordou com a exclusividade. Resta negociar uma pequena compensação pela perda de um mercado tão próspero, seus vizinhos, quero dizer.
– E em quanto consistiria essa “pequena compensação”?
– Para que Vossa Majestade possa incorporar imediatamente os Gendarmes a seu arsenal de defesa (os mísseis Gendarmes eram armas de ataque, não de defesa, mas Francine já aprendera algumas mentirinhas convencionais, filigranas próprias do negócio de armas), sugiro um pequeno aumento no preço e na quantidade. Em vez de um lote de 500, proponho 700. Quanto ao preço, tomo a liberdade de sugerir 250 mil por unidade.
– Não estou habituado a discutir minúcias. Meus assessores fazem isso. Mas quero resolver tudo hoje. Concordo com seus termos, embora meu sangue de mercador persa me faça sentir que poderia conseguir um desconto sobre esse último preço.
Feita a ressalva, o xá deu uma última olhada nas pernas de Francine e levantou-se, encerrando a audiência. Acompanhou a empresária até a porta, satisfeito. Estava muito mais interessado na exclusividade do que no preço.
– Espero vê-la algum dia em Teerã – despediu-se. – Uma bela cidade, senhora Kéraudy. Faça chegar a meu conhecimento se resolver visitar-nos. Quanto à assinatura do contrato, receberá um telefonema de meus assessores combinando os detalhes.
Uma hora depois ela voava para Zurique.
No dia seguinte, os profissionais da Midi-Pyrénées tomaram conhecimento do negócio fechado em Saint-Moritz. Passaram a respeitar a nova patroa. Ela mesma, Francine Kéraudy, ex-Clarence, pela primeira vez na vida, respeitou a si mesma.
CAPÍTULO 72
Desde os tempos de Chicago, quando operava no pregão de trigo, o trabalho constituíra-se em prioridade absoluta na vida de Clarence. A presença de Jessica provocara uma mudança. Passara a aguardar com prazer as tardes de sexta-feira quando, regressando com Antoine a Greenwich, se alegrava com a perspectiva de passar dois dias inteiros ao lado da mulher, desligado dos negócios.
Nesses dias costumava indagar-se: o que ela haveria programado desta vez? Um churrasco à beira da piscina com Martin, Bernard e as famílias? Ou passariam, ele e Jessica, o fim de semana sozinhos numa curta viagem ao campo?
Em datas festivas, a mansão era invadida por um exército de cunhadas e sobrinhos, vindos de Illinois. Julius gostava quando chegavam e, mais ainda, quando iam embora e a casa retornava à sua calma habitual.
Apreciadora de teatro, quando havia algum bom espetáculo novo em cartaz, Jessica reservava as entradas e um restaurante para depois.
Nas noites de domingo, quando interrompia o descanso e se dirigia à suíte da Liberty Tower para operar nos mercados do Oriente, Clarence levava Jessica consigo, prolongando a convivência do fim de semana. Ela freqüentemente o ajudava, rodando programas de computador. Outras vezes, limitava-se a fazer-lhe companhia, preparar café e sanduíches.
Enquanto ele iniciava sua semana de trabalho, os dois contemplavam a paisagem, tendo aos pés o estuário do Hudson, cada estação do ano um cenário diferente.
No verão de 1975, ele comprou Miss Montego, um esplêndido iate de 20 metros. Deixava a navegação por conta de profissionais, não se sentia com inclinação ou talento para a vida do mar. Enquanto durou o verão, os fins de semana foram quase todos passados a bordo em companhia de amigos. Como nos velhos tempos, à noite, após o jantar, Jessica cantava as baladas do Illinois, acompanhando-se ao violão.
Ao chegar o outono, Miss Montego foi levado para a Flórida, onde o clima e as águas tépidas do golfo do México e do Caribe permitiriam a navegação, mesmo no inverno.
Julius nunca se sentira tão bem. Sua aparência o demonstrava. Aos 35 anos, era um homem maduro e circunspecto. No trabalho, trajava-se com apuro e sobriedade. Fora dele, dava preferência aos jeans, eventualmente acompanhados de um blazer. Seus olhos azuis destacavam-se no rosto bronzeado pelos fins de semana no mar.
A seu lado, Jessica, jovem e esguia, fazia uma bela figura. O que mais se invejava no casal era a camaradagem. Mais que marido e mulher, eram amantes, amigos, sócios, colegas.
Os negócios prosperavam. A Associados, o Comercial de Manhattan e a cadeia Bars, sob o comando de executivos competentes, prescindiam da supervisão constante de Clarence para manter o fluxo de lucros. Julius passava a maior parte do tempo à mesa de operações, sentado em frente a Bernard Davish. Alan Payne continuava em Ridgefield, de onde procurava municiar a Liberty Tower com informações de primeira mão. Todos, Alan, Bernard e Clarence, sem nada que desafiasse seus talentos, mais adequados às batalhas e às crises, entediavam-se em suas rotinas de trabalho.
Foi quando surgiu a idéia da compra de um grande lote de ações da H. Knox. Fora o tédio, nada poderia explicar por que deixaram suas guardas tão abertas a ponto de correr um risco tão grande.
Ao contrário de Clarence e seus executivos, Clive Maugh, em Lausanne, trabalhava como nunca.
Após a morte de René Russon e a demissão de Jean Lesneur, o novo diretor de Operações destacava-se entre os colegas. Continuava um solitário e pouco falava nas reuniões do Comitê Diretor. Mas, sob sua gestão, as carteiras administradas pelo Sindicato apresentavam níveis excepcionais de rentabilidade, mesmo para os rigorosos padrões do Centro-Europeu.
Maugh continuava operando até tarde da noite. Pernoitava no banco quando julgava necessário e pesquisava nas horas de folga. Não fossem suas metódicas pesquisas, não teria chegado à H. Knox.
No início da segunda metade da década de 1970, as empresas japonesas começavam a dominar o mercado de aparelhos eletrônicos. O Japão vendia produtos mais baratos e de qualidade cada vez melhor. As grandes multinacionais americanas, entre elas a H. Knox, sentiam a concorrência. A maioria só continuava no mercado graças a suas marcas famosas.
As fábricas da H. Knox espalhavam-se por vários estados americanos e por diversos países. A empresa, fundada na Filadélfia por Henry Knox nos anos 20, começara fabricando rádios e vitrolas. Conseguira sobreviver à Grande Depressão. Durante a Segunda Guerra, fabricara equipamentos de comunicação para as Forças Armadas. Depois do conflito tornara-se a maior fabricante mundial de televisores.
A marca do elefante com sua tromba erguida representava qualidade, quase perfeição.
Com a chegada da fortuna, Knox tornou-se um excêntrico. Por pouco, não morreu, ao tentar atravessar o país a bordo de um balão. Bateu o recorde mundial de velocidade sobre rodas, no deserto de Alvard, e foi o primeiro homem a saltar 5 mil metros em queda livre. Tornou-se um defensor da vida selvagem e custeou uma campanha mundial contra as caçadas na África.
No início dos anos 50, deixou a direção dos negócios e abriu o capital da empresa, deixando-a aos cuidados de executivos profissionais. Comprou uma fazenda no Quênia, para transformá-la em reserva animal.
Não conseguiu muito. Foi morto em 1953 pelos Mau-Mau.
A morte do fundador não freou o crescimento do grupo. A H. Knox passou a fabricar máquinas de escrever e calculadoras elétricas, que vieram se juntar à afamada linha de produtos de imagem e som. Ao final dos anos 60, os produtos com o símbolo do elefante podiam ser encontrados em mais de 100 países.
Vieram, então, os japoneses vendendo barato, inundando o mercado. A H. Knox não admitiu reduzir custos, para não sacrificar a qualidade. Foi, aos poucos, perdendo a concorrência. Suas fábricas passaram a trabalhar no vermelho, os dividendos tornaram-se menores. As ações já caíam na bolsa há mais de cinco anos quando Clive Maugh descobriu o papel.
Após estudar a H. Knox, Maugh concluiu: se conseguisse adquirir um lote de ações suficiente para controlar a empresa, poderia desmantelá-la, vender algumas fábricas, sucatear outras e, mais importante e lucrativo, repassar o nome e a marca do elefante a outro grupo industrial.
Não seria desejável envolver o Centro-Europeu diretamente na operação. Cada vez mais, os suíços gostavam de discrição. Restava encontrar um testa-de-ferro confiável para, através dele, comprar para o Sindicato o controle da H. Knox.
Depois de pesquisar com Otto Behr, Clive Maugh decidiu utilizar os serviços de Zack Hickox, corretor em Wall Street, famoso por suas grandes tacadas e também por seus não menos freqüentes prejuízos.
Hickox, recém-saído de um sério revés na bolsa, farejou imediatamente um bom negócio, ao ser contatado pelos suíços. No dia seguinte reuniu-se com Maugh e Otto em Lausanne. Recebeu suas instruções e, ao retornar a Nova York, passou a comprar os papéis da H. Knox.
Durante seis meses, sob a supervisão atenta de Clive Maugh, Zack comprou ações praticamente despercebido.
CAPÍTULO 73
Jack West conciliava sua vida de ermitão e sua profissão de operador de mercado. Em sua cabana junto ao monte Hood, 80 quilômetros a sudeste de Portland, ainda precisava acender laboriosamente o fogão a lenha para cozinhar suas refeições, mas já contava com os mais modernos computadores e terminais de cotação e de notícias para exercer seu ofício.
Havia uma simpatia mútua entre ele e Clarence. Jack era um dos primeiros mercadores noturnos que Julius contatava quando, aos domingos, no começo da noite, chegava à suíte da Liberty Tower para dar início a sua jornada semanal de trabalho. De sua cabana, ao crepitar da lareira, West comprazia-se em trocar idéias com o famoso colega nova-iorquino. Ao longo da semana falavam-se algumas vezes. Aos domingos, era sagrado.
Por intermédio de Jack, Clarence teve sua atenção despertada para a H. Knox. West estudara o papel, examinara gráficos e cotações. Constatara um aumento sistemático no preço e no volume de negociação. Esse padrão de comportamento já durava seis meses, sem interrupção.
Alertado pelo colega do Oregon, Julius também analisou os gráficos e constatou: as ações da H. Knox haviam feito um break away gap na semana anterior.
No jargão dos grafistas, um break away gap ocorria quando uma ação, ou um produto qualquer, mudava de patamar e começava a ser negociado em nível superior a seu valor histórico recente. Significava que uma ou várias pessoas estavam comprando aquele ativo, pagando cada vez mais, a fim de atrair vendedores. Era um sinal de alerta. Costumava indicar uma oportunidade de ganho fácil pela frente. Clarence ficou excitado ao constatar o break da H. Knox. Decidiu comprar também, antes consultando Bernard Davish e Alan Payne.
Bernard sentia-se entediado com a monotonia reinante no escritório. Estava louco por ação. Por isso, ao ser consultado por Julius, fez alguns estudos superficiais sobre a H. Knox, constatou a qualidade de seus produtos, o grande valor da marca. Concordou com a compra. Payne investigou os dirigentes da empresa e só encontrou boas referências. Tal como Davish, aprovou o negócio, sem restrições.
Julius passou a comprar as ações em bolsa para vendê-las, mais tarde, com lucro. Nem mesmo remotamente pensou em controlar a H. Knox.
Clive Maugh logo percebeu que havia outro comprador.
Não se assustou. Já possuía um número de ações suficiente para assumir o controle e executar seu plano. Mas, definitivamente, não gostou quando soube, por intermédio de Hickox, que Julius Clarence estava comprando seu papel.
Em recente viagem ao Japão, em companhia de Zack Hickox e do contador do Sindicato, Jacques Schneider, o inglês acertara com os japoneses da Chimba, fabricantes de produtos eletrônicos, a venda do nome H. Knox e da marca do elefante por 200 milhões de dólares.
O próximo passo seria a venda das instalações industriais e dos imóveis. O grupo fundado por H. Knox ver-se-ia reduzido a uma montanha de dinheiro, cash, a ser distribuído entre os acionistas. Entre os quais o Centro-Europeu, possuidor agora da maior parte das ações.
Mas, quando Zack lhe comunicou que a Clarence & Associados estava lotada daqueles papéis, Maugh resolveu mudar o plano. Decidiu largar a H. Knox, sem o nome tradicional e a marca famosa, na mão de Julius Clarence. Voltou a Tóquio, levando consigo Zack Hickox, e impôs novas condições aos japoneses. Em vez de 200 milhões, a Knox venderia seus símbolos por apenas 20. Os restantes 180 seriam pagos por fora ao Centro-Europeu. Para a Chimba, não fazia diferença. Concordaram com a nova proposta.
Clarence ficou estupefato ao saber que a H. Knox vendera seu nome e sua marca por 20 milhões de dólares. A empresa passava a chamar-se Andromeda, com novo logotipo, um emblema dourado em forma de elipse. Ao mesmo tempo, Julius soube que Zack Hickox detinha o controle.
As ações, que antes haviam feito um break away gap para cima, fizeram um novo break, só que, desta vez, para baixo. Em poucos dias, os títulos da H. Knox – da Andromeda, melhor dizendo – perderam 1/3 de seu valor, caindo de 30 para 20 dólares.
Mas o inferno astral de Julius Clarence estava longe de chegar ao fim. Clive Maugh ainda controlava, através de seu testa-de-ferro nova-iorquino, 5 milhões de ações. O inglês liquidou-as rapidamente para garantir mais alguns milhões ao Sindicato. A Andromeda caiu para 16 dólares.
Andromeda, elipse dourada, break away gap para baixo, 16 dólares. A cada nova desgraça, Clarence sentia-se, cada vez mais, um amador irresponsável. E Zack Hickox continuava vendendo por qualquer preço, forçando o papel para baixo. A Andromeda – Julius não conseguia se acostumar ao novo nome – só se estabilizou quando chegou a 12 dólares e o Sindicato vendeu seu último lote, sempre através do testa-de-ferro.
Clarence colocara muito dinheiro na maldita operação. Não podia, simplesmente, deixá-lo virar fumaça. Os produtos fabricados pela Andromeda eram de boa qualidade, tinha consciência disso. Restava-lhe ficar com a empresa e tentar soerguê-la.
A essa altura, usara recursos da Associados, do Comercial de Manhattan e até mesmo das Lojas Bars. Envolvera seu grupo em uma operação executada sem o menor planejamento, iniciada apenas para fugir do tédio. Mesmo assim, o capital revelou-se insuficiente. Precisava de mais para transformar a Andromeda em uma indústria lucrativa e tirar as outras empresas do buraco onde ele mesmo as havia colocado.
Como fizera em outros momentos de dificuldade, recorreu a Abdul al-Kabar. Mas, pela primeira vez, não pôde contar com o árabe. Este, segundo informou Basil Kennicot, encontrava-se às voltas com a política da OPEP. Lamentavelmente, não se encontrava disponível.
Julius admitia sua culpa pelo fracasso da operação. Só não entendia por que a marca e o símbolo da H. Knox haviam sido vendidos por tão pouco. Mas não demorou a saber. Zack Hickox, em uma festa, bêbado, confidenciou a alguns amigos que a Chimba pagara ao Sindicato 180 milhões de dólares em troca do nome e do elefante com a tromba erguida. A informação chegou logo a Alan Payne. Mas não havia provas. Nada se podia fazer a respeito.
Como em crises anteriores, Julius voltou a fumar e beber em demasia. Mal saía da Liberty Tower. Mas não se deu por vencido. Jurou a si mesmo recuperar suas empresas e fazer da Andromeda a melhor e mais eficiente fabricante de produtos de áudio e vídeo do mundo. A elipse dourada, assim como o novo nome, já não lhe parecia tão estranha.
Mas seus problemas estavam longe de uma solução definitiva. Os japoneses da Chimba, agora H. Knox, entraram no mercado americano vendendo por preços muito inferiores aos que a Andromeda podia oferecer. O momento não podia ser pior. Uma greve, a primeira enfrentada por Julius, paralisara a fábrica de televisores. Seus operários, à frente o líder Terence Coyote, pressionavam por aumento de salários.
Clarence encontrou-se a sós com Coyote e surpreendeu-se quando este lhe extorquiu 50 mil dólares para acabar com a greve. Então, o filho-da-puta concordava em pôr fim ao movimento, desde que recebesse dinheiro. Julius lutava contra a maior crise de sua vida e o canalha se vendia por míseros 50 mil.
Entregou-lhe o suborno pessoalmente. O ardiloso sindicalista aproveitou a ocasião para sugerir uma campanha publicitária contra os produtos estrangeiros. Poderiam, assim, ajudar a Andromeda e prejudicar a Chimba.
Da conversa entre Julius Clarence e Terence Coyote, dentro de um carro em movimento pelas ruas de Manhattan, surgiu o lema: “Compre americanos”.
A “Compre americanos” foi uma campanha árdua. Árdua e suja. Cenas da Segunda Guerra Mundial, como o ataque a Pearl Harbour, foram relembradas. As empresas estrangeiras tiveram seus nomes vinculados ao desemprego na América, os operários japoneses eram mostrados como robôs, trabalhando sem descanso em suas linhas de montagem, em concorrência desleal com seus colegas americanos.
Ao final da campanha, Terence Coyote tornara-se um líder sindical de projeção. Representava o símbolo da nova ordem: operários americanos consumindo produtos americanos. Clarence deu a sua cota de contribuição. Acertou com seus operários a participação de todos nos lucros da Andromeda. Foi preciso também alterar alguns hábitos pessoais. Trocou seu Mercedes Classe S por um Cadillac Fleetwood e sua Ferrari Testarossa, nova em folha, por um patriótico Corvette.
Sua imagem foi beneficiada pela “Compre americanos”, tornando-o uma espécie de paladino do american way of life. Os grandes bancos sentiram-se constrangidos em recusar empréstimos, a juros baixos, à Andromeda. Uma reportagem publicada no Miami Herald, acusando-o de ter furado o bloqueio a Cuba – teria vendido, segundo o jornal, um ano antes, 1 milhão de toneladas de açúcar para Fidel Castro –, foi desacreditada.
Dessa vez Julius Clarence escapou por um triz.
Clive Maugh encerrou seu expediente mais cedo e correu para casa. Naquela noite de quarta-feira, excepcionalmente, o turco Efram iria fornecer-lhe novamente as duas gêmeas coreanas que conhecera no sábado. Tinham o clitóris avantajado, algo que nunca vira antes.
O inglês nunca se excitara tanto e queria repetir a dose. Ao contrário de Julius Clarence, nada tinha contra produtos orientais.
Quando West abanou o fogo, a lenha seca estalou entre as chamas. Aproveitou o calor do fogão e aqueceu as mãos geladas. Pegou a panela de feijão, colocando-a sobre a trempe, acima das labaredas. Com uma colher de pau, mexeu o ensopado de carne em outra panela. Dividiu uma broa de milho em duas partes. Pôs uma delas sobre a chapa quente.
Feijão, carne ensopada com molho de chili, pão caseiro e uma caneca de cerveja. Quando a fome estivesse saciada, Jack West voltaria ao trabalho.
As ações da Andromeda, agora, estavam em alta e, por certo, em algumas semanas, recuperaria seu prejuízo. Não que o dinheiro pudesse fazer-lhe falta. Ali, no monte Hood, ter mais ou menos dinheiro não fazia a menor diferença. Era apenas uma questão de marcação. Jack, simplesmente, não gostava de ficar do lado perdedor no jogo do mercado.
Engraçado aquele Julius Clarence. Em nenhum momento mencionara o fato de ele, West, ter indicado as ações da H. Knox, que acabaram se transformando em Andromeda.
Tinha um palpite sobre aquele caso. Uma vaga suspeita de que todos os lados haviam jogado sujo naquela parada. Uma vaga suspeita. Por isso, embora gostasse tanto do mercado, preferia trabalhar sozinho ali nas montanhas.
O agente do FBl exibiu o mandado de prisão e recitou o Miranda. Depois, algemou Zack Hickox pelas costas. Mais tarde, ele seria levado à presença de um juiz e acusado de fraude, manipulação de mercado, uso ilegal de informações privilegiadas e sonegação de impostos.
Hickox assumiu a culpa sozinho. Sabia o suficiente sobre o Sindicato para desrespeitar o juramento de silêncio feito a Otto Behr, seis meses antes, em Lausanne. Guardava a lembrança do chefe da Inteligência do Centro-Europeu tendo em mãos o retrato de sua filhinha, Cynthia Hickox, de apenas seis anos, tirado no pátio do recreio da escola de freiras Mary Mount, na 5ª Avenida, junto ao Central Park.
CAPÍTULO 74
Clarence tornara-se mais rico, controlava mais empresas. Os corretores e operadores de Wall Street tinham-no como um ídolo, admiravam sua fibra e sangue-frio, aplaudiam seus sucessos. Já os banqueiros tradicionais o viam cada vez mais como um aventureiro, muito bem-sucedido, é verdade, mas, inequivocamente, um aventureiro.
Quando avaliavam sua atuação como operador de mercado, todos eram unânimes. Ninguém o igualava, pelo menos na América.
Graças a esse talento, um ano após a compra da Andromeda, Clarence ganhara dinheiro suficiente para transformá-la numa indústria moderna e eficiente e devolver às suas outras empresas o capital usado para a compra da antiga H. Knox. Fizera mais do que isso. No ano de 1976, as carteiras de clientes administradas pela Associados haviam apresentado a notável rentabilidade de 70%.
Nenhum fundo de investimentos americano sequer se aproximara de tal performance. Resultado superior só na Suíça, onde o Banco Centro-Europeu de Lausanne obteve, para as carteiras administradas por Clive Maugh, um resultado de 110%.
Mas poucos sabiam dos resultados de Maugh. O Sindicato não tinha o costume de propalá-los.
Nada disso constava da pauta da conversa entre Julius Clarence e Basil Kennicot, sentados à mesa do Savoy Grill, para almoçar, no início de uma tarde chuvosa de inverno. Os dois estimavam-se mutuamente. Seus encontros, embora raros, eram, via de regra, extremamente agradáveis a ambos.
Clarence chegara pela manhã a Londres, hospedando-se no próprio Savoy. Já se encontrava no restaurante, degustando um malte puro, quando o advogado chegou. Kennicot deu uma olhada na mesa e comentou maliciosamente:
– Compre americanos. Certamente esse líquido escuro em seu copo é o mais puro bourbon do Kentucky.
Julius aceitou a provocação.
– Quando estou fora, abro uma exceção. Questão de cortesia com os nativos.
Kennicot sentou-se e pediu um Porto. Esperou o garçom afastar-se e estendeu a mão, a palma na vertical, voltada para Clarence.
– Deixe-me adivinhar – disse rindo. – Você já tem uma corretora, um banco, uma cadeia de lojas e uma fábrica de aparelhos de televisão. Quer agora comprar uma companhia de navegação e precisa de meus humildes préstimos.
Clarence encerrou a brincadeira.
– Estou aqui para comprar a parte de Abdul al-Kabar na Associados e no Manhattan.
O advogado não se impressionou.
– Sempre me perguntei quando aconteceria isso.
– Pois eu nunca havia cogitado a hipótese. Pelo menos até o ano passado, quando fiquei em dificuldades por causa da Andromeda e sequer consegui falar com Abdul. Naquele momento, decidi que, tão logo fosse possível, encerraria a sociedade. Não está sendo de nenhuma utilidade para mim. Foi muito importante no início quando eu precisava desesperadamente de capital.
O garçom serviu o Porto. Quando veio o maître, Julius pediu uma omelete à Arnold Bennet e peito de pombo grelhado com foie gras, alho e champignon. Kennicot optou por carpaccio marinado com óleo de trufas e rim de carneiro com bacon.
Quando novamente ficaram a sós, o inglês olhou discretamente para os lados, para verificar se alguém os poderia estar ouvindo. Falou sério:
– As condições de recompra são pesadas. Principalmente as da Associados. Se não me falha a memória, há dez anos, você assinou um contrato pelo qual concordou em remunerar o capital investido por eles, cinco vezes mais do que a valorização do ouro. No caso do Manhattan, a coisa é mais fácil. Uma vez e meia o valor de mercado, se não estou enganado.
– Basil, você nunca se engana. Mas, por incrível que pareça, terei que desembolsar mais dinheiro pelo Manhattan. – Explicou que, devido ao enorme crescimento das duas empresas, tornou-se mais vantajoso pagar pela Associados cinco vezes a valorização do ouro do que pagar pelo Manhattan uma vez e meia a valorização de suas ações.
– Com o ouro a 100 dólares – concluiu –, vou pagar pelas ações da Associados 100 milhões de dólares, equivalentes a cinco vezes 200 mil onças. Já a parte do Manhattan, apesar de valer muito menos, vai me custar 112 milhões, ao preço de fechamento das ações ontem no mercado de balcão. Duzentos e doze milhões para ficar sozinho com o meu negócio, este é o preço.
O garçom serviu as entradas. Clarence comeu um pedaço da omelete, deliciou-se com a combinação de queijo derretido e peixe defumado, e continuou:
– O mais difícil foi conseguir separar tanto dinheiro sem o conhecimento de meus próprios diretores. Nenhum deles sabe da sociedade. Durante 10 anos, fui obrigado a fazer malabarismos para manter o assunto em segredo. Mas agora acabou. Já tenho tudo depositado nas ilhas Cayman.
– Irei pessoalmente a Riad – disse Kennicot, degustando o carpaccio. – Notificarei meu cliente e prepararei uma quitação.
Não falaram mais de negócios. Após o pombo e o rim, saborearam um Peach Melba, legendária invenção da casa. Prolongaram ao máximo o encontro. Naqueles 10 anos, Julius Clarence e Basil Kennicot haviam se tornado grandes amigos.
Alguns dias depois, Kennicot viajou para a Arábia Saudita, onde Abdul al-Kabar o recebeu em sua casa.
O árabe ficou satisfeito com o fim da sociedade. Tal como acontecia com Clarence, precisava ocultá-la, para não prejudicar suas atividades de ministro. Seria uma preocupação a menos.
Al-Kabar lidava com vários problemas simultaneamente. O xá Reza Pahlevi vinha forçando novas altas do petróleo e, ao modo de ver de Abdul, o Ocidente não poderia suportar tais aumentos. Finalmente, sua posição política tornara-se fraca em seu próprio país desde o assassinato do rei Faissal.
Alguns meses depois foi substituído no cargo de ministro do Petróleo. Mudou-se para Londres, onde constituiu uma empresa de consultoria.
Embora Clarence viajasse constantemente para Londres a negócios e mais tarde tivesse comprado uma casa no interior da Inglaterra, ele e Abdul nunca mais se encontraram.
QUINTA
PARTE
CAPÍTULO 75
Acontecimentos importantes marcaram o final da década de 1970. No Irã, multidões enfurecidas forçaram o xá a abandonar o trono de Ciro, o Grande, e tomar o rumo do exílio, deixando o poder para os mulás liderados por Khomeini. Meses depois, a embaixada americana em Teerã foi invadida, seus funcionários tomados como reféns.
A situação mundial tornou-se tensa. Ouro e petróleo voltaram a subir. Todos temiam que a crise iraniana se transformasse em guerra e incendiasse o Oriente Médio.
Julius Clarence terminara de pagar as ações compradas de Abdul al-Kabar e solidificara suas empresas. O caipira de Davenport era agora uma grande celebridade, um magnata.
Jessica compartilhava de cada minuto da vida do marido. Incentivava seus negócios e o acompanhava em suas viagens, agora feitas em um jato Cessna 500, Citation, particular.
Julius não foi o único a crescer naqueles três anos. Em Lausanne, Clive Maugh tornara-se o mais importante diretor do Sindicato. Continuava trabalhando até altas horas da noite e ainda operava pelo telefone. Mas, agora, além de cuidar de suas próprias operações, supervisionava o trabalho de outros profissionais.
Dezenas de milhões de dólares de aplicações novas entravam mensalmente no Centro-Europeu. Gustave Thayer, da captação, não mais precisava sair em busca de clientes. Estes vinham a ele, ansiosos por se protegerem da corrosão inflacionária provocada pela alta do petróleo.
Não somente os donos das grandes fortunas, o crime organizado, as igrejas, os tiranos e os corruptos procuravam o Sindicato para proteger seu patrimônio. A grande fonte de recursos provinha agora dos petrodólares que inundavam o Oriente Médio. Todo esse dinheiro fluía, aos borbotões, direto para as carteiras de Clive Maugh.
Ninguém se decepcionava. Por isso, o Centro-Europeu não parava de crescer. Rivalizava agora, em quantidade de recursos administrados, com os grandes bancos do Ocidente. Maugh, mesmo contra sua vontade, deixara de ser um anônimo operador. Para seu grande desprazer, contemplava freqüentemente seu nome e sua foto nos mais importantes órgãos da imprensa internacional. Mudara-se para um apartamento maior, à margem do Lac Léman, onde continuava lendo seus livros e revistas, ouvindo suas músicas, recebendo suas putas e corrompendo suas adolescentes.
A Midi-Pyrénées também se beneficiara com a crise do Oriente Médio. O mercado de armas se aquecera e a fábrica de Toulouse precisara ampliar suas instalações para atender às encomendas vindas de todo o mundo.
Aos poucos, Francine aprendera e assumira todas as funções do pai. Seus engenheiros e operários já não mais estranhavam ter de obedecer a uma mulher. Quando não se encontrava na fábrica, ela dividia seu tempo entre a mansão de Montaigut-sur-Save, o apartamento de Paris e as cada vez mais freqüentes viagens de negócio.
Raramente sentia solidão. Além do trabalho e das viagens, havia agora Catherine, engenheira, ex-piloto de provas e amiga íntima da senhora Kéraudy.
Francine e Catherine viviam um romance.
Catherine Sorel, filha do ex-primeiro-ministro Gérard Sorel, fora, durante anos, piloto de provas da Avions Marcel Dassault. Até que, em 1967, sofrera um gravíssimo acidente com um Super-Mystère B2, no Mediterrâneo, ao norte da Tunísia.
Além de múltiplas fraturas e lesões, Catherine foi vítima de graves queimaduras. Seu rosto transfigurou-se completamente. Foi preciso, primeiro, esperar a cicatrização dos ferimentos e a solidificação dos ossos. Só então pôde ser iniciado o penoso e prolongado tratamento cirúrgico para reconstituição da face. Felizmente havia a clínica do professor Tartuf Zardil, em Zurique, onde se operavam verdadeiros milagres.
Foram necessários cinco anos e dezenas de operações para que a piloto de provas recuperasse sua beleza. Os implantes, efetuados pela mão segura e competente de Zardil, reconstituíram-lhe a pele lisa. Não restou cicatriz aparente.
Catherine Sorel não aparentava seus 40 anos. Sua fisionomia serena e descontraída raramente revelava a dor que sofrera durante o tratamento.
Após a recuperação, conseguira emprego na Midi-Pyrénées. Sua tarefa consistia em avaliar o comportamento aerodinâmico dos aviões, ao serem equipados com os mísseis ar-ar e ar-superfície da fábrica de Toulouse. Competia-lhe conversar com os pilotos de provas, voar com eles. Infelizmente, não podia mais pilotar. Um de seus olhos, embora esteticamente perfeito, tinha apenas 20% da visão, também conseqüência do terrível acidente no Mediterrâneo.
Seu trabalho era importantíssimo para a fábrica de Toulouse. Seu nome dava prestígio à empresa. Fazia-se respeitar pelos projetistas dos mísseis e pelos pilotos, civis e militares, com os quais lidava diariamente.
No início, o relacionamento com Francine foi difícil. Catherine, mais do que os homens, não gostava de ser dirigida por uma mulher. Principalmente uma milionária mimada, que nada entendia de aviões, de armas e que, praticamente, pouco conhecia do negócio do pai. Francine, por seu lado, enciumava-se ao ver a outra conversando de igual para igual com engenheiros, desenhistas e projetistas, coisa que jamais conseguia.
Mal se suportavam quando a coisa estourou.
A Midi-Pyrénées gastara meses de trabalho e dezenas de milhões de francos para produzir o Antares, especialmente concebido para equipar o Mirage F1, da Marcel Dassault. Alguns exemplares haviam sido enviados ao construtor dos caças para testes de vôo. Faltava apenas a aprovação final para o início da fabricação em série.
Francine e seus engenheiros depositavam grandes esperanças no Antares. Mas os pilotos da Dassault não estavam gostando da maneira como os aviões se comportavam no ar quando equipados com ele. Catherine, em vez de defender a Midi-Pyrénées, posicionou-se ao lado dos aviadores. Estes queriam uma redução do tamanho dos mísseis, que, segundo eles, naquelas dimensões, prejudicavam a dirigibilidade dos caças quando voavam de dorso.
A modificação em si não constituía um problema técnico de difícil solução. Mas o tamanho menor significaria uma carga menor de TNT, portanto um menor poder de destruição, implicando uma redução do preço final de venda dos mísseis. Estava em jogo um prejuízo de 18 milhões de francos.
Na opinião de Francine, sua subordinada queria apenas dar uma demonstração de força, fazendo com que a fábrica cedesse a um capricho seu. Mas, embora contrariada, manteve sua decisão em aberto. Exigiu que lhe provassem a necessidade das modificações no projeto Antares.
Catherine não aceitava discutir o assunto com uma leiga, só porque era dona da empresa; não gostou quando foi chamada à sala da presidente. Decidiu provocar um incidente irreversível.
– Só existe uma maneira de provar – disse ela, acidamente, ao entrar na sala. Levante a bundinha cheirosa dessa cadeira estofada e vá sentar-se com um piloto de verdade na porra do cockpit do F1. Quando o caça estiver voando de dorso, vai trepidar como uma chocolateira. Então, queridinha, você vai saber por que estou do lado dos pilotos.
Para sua completa surpresa, Francine aceitou o desafio.
No dia seguinte, Catherine viu-se obrigada a levá-la ao campo de provas da Aérospatiale – que costumava emprestar suas instalações à Midi-Pyrénées –, a noroeste de Toulouse. Um Mirage F1, modelo biplace de treinamento, novo em folha, aguardava à porta de um dos hangares, pronto para sair. Em cada uma das asas, presos à parte inferior, dois Antares, a parte frontal dos mísseis projetando-se um pouco à frente do bordo de ataque, as aletas traseiras estendendo-se além do bordo de fuga.
No vestiário, Francine trocou de roupa, vestindo um macacão de vôo. Foi, então, conduzida ao assento traseiro, ejetável, do caça. Equiparam-na com capacete, máscara de oxigênio e aparelhagem de intercomunicação com o piloto.
O bólido foi taxiado e conduzido à cabeceira. O piloto deu uma última checada nos instrumentos, comunicou-se com a torre de controle e, pelo interfone, avisou a passageira de que se preparasse para a decolagem. Comprimiu, então, os dois pedais dos freios e empurrou a manete do acelerador, injetando querosene nas duas turbinas, de 16 mil libras de empuxo cada uma. Soltos os freios, Francine foi projetada, de maneira selvagem, contra o assento. O caça saltou para a frente, como uma fera libertada de seus grilhões, e engoliu rapidamente a pista de concreto.
Já no ar, o piloto elevou o nariz para um ângulo de subida de 30 graus.
Dez minutos depois, na altitude de 30 mil pés, velocidade de Mach 0.9, ele nivelou o Mirage. Fez sinal com o polegar direito, indicando o início do teste.
Os comandos à frente de Francine começaram a se mexer quando o piloto levou a alavanca do manche para o lado direito, tomando o cuidado de pressionar, ao mesmo tempo, o pedal esquerdo do leme de direção, a fim de manter a trajetória. O avião girou lentamente em torno de seu próprio eixo e completou um demi-tonneau.
Instantes depois, o corpo rígido de Francine registrou a trepidação que se apoderou do aparelho. Segurou-se no assento com as duas mãos, como se disso dependesse a estabilidade do caça.
Depois de alguns segundos, que pareceram a ela uma eternidade, o piloto comandou o retorno à atitude de vôo de cruzeiro e iniciou a volta à base.
Francine nunca voara em um avião de caça, muito menos de dorso, menos ainda trepidando daquela maneira. Quando o piloto conduziu o Mirage de volta ao hangar, suplicou a Catherine que a levasse rapidamente para longe dali.
Mal deixaram o aeroporto, pediu-lhe que parasse o carro. Saiu rapidamente e vomitou.
Catherine segurou sua testa. Depois a conduziu gentilmente de volta ao veículo.
– Desculpe-me – disse ela. – Eu não tinha o direito. Não tinha o direito de deixar você voar naquele avião. Assim que chegarmos à fábrica, receberá meu pedido de demissão. Não vou mais atrapalhá-la. Você vai ser respeitada, garota. Nem mesmo seu pai, nem mesmo ele, teve coragem de subir lá em cima para ver como as coisas acontecem na vida real.
– Não vai pedir demissão nenhuma. Você vai nos ajudar a diminuir a porra daquele míssil. – Francine nunca falara daquela maneira.
Desde então tornaram-se amigas. Mais tarde, íntimas. Catherine, a que não gostava de obedecer a mulheres. Francine, a que tinha dificuldades com os homens...
CAPÍTULO 76
Quando, em janeiro de 1848, James W. Marshall descobriu ouro na Califórnia, aventureiros de todo o país correram para a região. Um ano depois, os garimpeiros podiam ser contados às dezenas de milhares, acomodados em cidades improvisadas.
Era preciso alguma coisa para divertir aquela multidão de homens rudes. Surgiram, então, as touradas que os mexicanos, vindos do sul, haviam herdado de seus colonizadores espanhóis. Mas a luta entre o homem e o touro não foi suficiente para agradar aos garimpeiros. Queriam algo mais violento, menos previsível, uma luta igual em que pudessem apostar. Os touros foram, então, aproveitados para lutar contra ursos, encontrados em abundância no norte do estado.
A nova luta foi um sucesso. Durava apenas alguns minutos. Terminava, invariavelmente, com a morte de um dos participantes. Algumas vezes, o touro, com um rápido movimento da cabeça para cima, perfurava com os chifres o peito do adversário. Em outras, o urso, com uma violenta patada para baixo, esmigalhava o crânio do inimigo. O touro sempre atacava para cima. O urso, para baixo.
Veio dessa época o hábito de chamar de touros as pessoas que apostam nas altas do mercado, pois estão jogando na expectativa de um movimento para cima. Por outro lado, ursos são os que apostam no movimento para baixo. Bull market é o mercado do touro, para cima. Bear market é o mercado do urso, para baixo.
Quase oito décadas depois da Corrida do Ouro, todo o país apostava no bull market de ações na Bolsa de Valores de Nova York. Mas veio o crash, em outubro de 1929, e os Estados Unidos mergulharam na depressão.
Um ano mais tarde, desempregados acotovelavam-se nas filas de distribuição de sopa ou trabalhavam em troca de um prato de comida. Famílias inteiras mendigavam nas ruas das grandes cidades. O desânimo se apossara de todos.
Nada disso afetava Columbus Joiner, 71 anos, mais conhecido como Dad Joiner, cujo ofício era procurar petróleo. Ele costumava afirmar que podia farejar petróleo debaixo da terra. Em 1930, Joiner perambulava pelo Leste do Texas, certo de encontrar fortuna debaixo do solo pobre e arenoso da região.
Como não tinha capital para iniciar uma perfuração, o velho Dad recorria a um estratagema. Procurava nomes de viúvas nas colunas de obituários dos jornais. Então, escrevia-lhes, oferecendo-se para multiplicar o dinheiro deixado pelo falecido, que aplicava na prospecção de petróleo. Para dar maior credibilidade às cartas, anexava-lhes um mapa geológico, assinalando onde pretendia perfurar, no condado de Rusk, a sudeste de Dallas, quase na fronteira com a Louisiana.
Conseguia apenas um minguado capital. Usava-o para comprar máquinas de segunda mão e contratar alguns operários maltrapilhos. Mão-de-obra barata era o que não faltava naqueles dias de depressão.
Finalmente, no início de setembro, a sorte começou a sorrir para Dad Joiner. As perfuratrizes de um de seus poços, o Daisy Bradford Número 3, cujo nome derivava da proprietária da fazenda onde se fazia a prospecção, encontraram gás, sinal de que algo mais valioso poderia estar escondido abaixo da superfície arenosa. A notícia correu célere. Centenas de pessoas vieram dos arredores para assistir ao fenômeno. Todos queriam estar presentes quando surgisse o petróleo.
Sexta-feira, 3 de outubro de 1930, 8h da noite. Os trabalhadores já haviam guardado os equipamentos e conversavam em pequenos grupos, junto às tendas. Então, subitamente, aconteceu. O poço da fazenda de Daisy Bradford, no condado de Rusk, Leste do Texas, começou a borbulhar. A terra tremeu sob os pés dos operários e curiosos.
Minutos depois, o petróleo irrompia. Um líquido negro e espesso jorrou muito acima da torre de perfuração e veio cair, sob a forma de uma chuva oleosa, sobre os presentes. Dad Joiner acabara de encontrar o “Gigante Negro”, o maior poço de petróleo dos Estados Unidos.
Imediatamente surgiram, como que por encanto, centenas de pessoas a quem Joiner vendera participações em seu empreendimento. O velho só então percebeu que tinha sócios demais. Possivelmente, ficaria com muito pouco de seu negócio. Havia até a possibilidade de que, ao final de tudo, nada lhe restasse.
Mas Joiner tinha outro poço, o Deep Rock, situado a menos de dois quilômetros do Daisy Bradford. Se juntasse a produção dos dois, poderia resolver a pendência com os que reclamavam seus direitos de sociedade e, ainda, lhe sobraria dinheiro, o bastante para se tomar a pessoa mais rica do Leste do Texas.
Infelizmente, Dad ignorava que o Deep Rock também tinha petróleo. Um espertalhão, de nome Haroldson Lafayette Hunt, subornara, com 20 mil dólares, o perfurador de Deep Rock para que se calasse. Mas Hunt sabia que o segundo poço era tão fértil quanto o primeiro.
Dad Joiner foi levado por Haroldson a um hotel no Arkansas. Lá, no Dia de Ação de Graças, após quase 40 horas de negociação ininterrupta, Hunt, um sujeito enorme, convenceu o velho a ceder-lhe, por 1 milhão e 300 mil dólares, 30 mil em dinheiro, o resto em petróleo, todos os direitos de exploração.
Columbus Joiner morreu 16 anos depois, aos 87 anos. Pobre. Gastara todo o dinheiro recebido de Hunt na pesquisa de novos poços. Nunca mais achou nada.
Haroldson L. Hunt acertou as pendências judiciais e tornou-se o maior produtor independente do Leste do Texas. Tornou-se também um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Um empresário respeitável, extremamente conservador, defensor da teoria singular segundo a qual os votos dos cidadãos deveriam ter um peso correspondente à riqueza de cada um.
Na vida particular, Hunt era mais liberal. Constituíra, simultaneamente, três famílias. Cinqüenta anos depois, em 1980, seus filhos tentaram, de maneira engenhosa, multiplicar toda aquela fortuna, por meio de um corner no mercado de prata de Nova York.
CAPÍTULO 77
Os grandes especuladores, através dos tempos, sempre almejaram um corner. É a mais fascinante e lucrativa das operações de mercado.
O corner existe quando uma pessoa ou instituição compra determinado ativo em quantidade maior do que a existente daquele ativo. Por exemplo, se alguém consegue comprar 1 bilhão de dólares de determinada série de obrigações do Tesouro, e só foram emitidos 900 milhões daquela série, esse alguém conseguiu estabelecer um corner. Nessas ocasiões, as cotações sobem a níveis estratosféricos.
Ao apagar das luzes da década de 1970, mais precisamente no outono de 1979, os irmãos Hunt, associados a alguns magnatas do Oriente Médio, compraram 90 milhões de onças de prata no mercado futuro de Nova York. Acontece que não existia toda aquela prata disponível no mundo.
Os bilionários texanos pretendiam exigir a entrega física do metal, em março de 1980. Nessa ocasião, os especuladores vendidos teriam de comprar a prata dos próprios Hunts, para entregá-la a eles mesmos. Os irmãos poderiam ganhar bilhões com isso. Eventualmente, tornar-se-iam os homens mais ricos do planeta.
O momento era propício a uma alta dos metais preciosos. Diversas coisas importantes aconteciam ao mesmo tempo. Os mercados estavam extremamente nervosos.
Em dezembro o dólar encontrava-se em queda livre. Os reféns americanos continuavam presos na embaixada em Teerã. O governo iraniano acusava o xá de ter roubado 1 bilhão de dólares e exigia, do Ocidente, a devolução do dinheiro. O petróleo não parava de subir. Para agravar a situação, a União Soviética concentrara tropas na fronteira do Afeganistão. Uma invasão era iminente.
Clarence andava tenso, pois não comprara uma onça de prata sequer. E nada incomodava mais Julius Clarence do que perder uma oportunidade. Determinara a Alan Payne e Bernard Davish que verificassem se os Hunts tinham mesmo possibilidade de comprar tanta prata, como alardeavam.
Jessica percebia a tensão do marido e o forçava a sair de casa. Boas peças e filmes estavam em cartaz naqueles dias. Naquele outono, o casal assistira a Oklahoma, Evita e à estréia de All That Jazz, com Roy Scheider. Julius fora aos espetáculos sem muito entusiasmo, o pensamento na prata.
Na terça-feira, 18 de dezembro, antes da abertura do mercado, Clarence conversou com Alan e Bernard.
– Tenho uma informação quente – disse Alan. – O fundo constituído pelos Hunts e seus sócios árabes possui, neste momento, 2 bilhões de dólares em dinheiro. Eles ainda têm fôlego para absorver muita prata – concluiu.
Bernard também tinha novidades.
– Um amigo meu, Rud Damgard, corretor da Sander, recebeu ontem, direto de Nelson Bunker Hunt, ordem para comprar prata no mercado futuro, em qualquer quantidade, de maneira a levar todos os vencimentos para o limite de alta. Julius, o Rud me impressionou. Nunca vi um cara tão bullish em toda a minha vida.
Definitivamente, a Associados não podia ficar fora daquela jogada. Uma fortuna estava em jogo, bastava um pouco de ousadia. Decidiram, a partir daquele momento, seguir as pegadas dos Hunts.
Entraram comprando lotes grandes, pagando na boca do vendedor. Naquela terça-feira, a prata Março fechou no limite de alta – como dissera o amigo de Bernard –, em 23 dólares e 70 centavos, a maior cotação de todos os tempos.
Se Julius Clarence estivera tenso por não estar participando da tentativa de corner, pior acontecia com Clive Maugh. O inglês estava simplesmente histérico por estar de fora. Segundo um relatório preparado por Otto Behr – Maugh lia e relia o papel às 3h30 da manhã da quarta-feira, 19 de dezembro –, diversos aviões cargueiros vinham decolando, nos últimos dias, de Nova York e Londres, carregados de prata. Dirigiam-se a algum ponto do Oriente Médio. Concluía o relatório: os Hunts e seus sócios tinham condições de comprar toda a prata existente no mundo e levar a cotação a níveis inimagináveis.
O informe do diretor de Inteligência era reforçado pelos gráficos. Estes indicavam que o preço da prata poderia explodir para cima. Enquanto plotava as linhas de tendência na tela do computador, Maugh experimentou uma ereção. Correu ao banheiro. Quando retornou à mesa, aliviado, decidira entrar para valer no mercado, usando o peso das carteiras dos clientes do Sindicato.
Os irmãos Hunt encontravam-se prestes a realizar o sonho supremo de todos os especuladores: executar um corner perfeito. Existiam, naquele momento, 76 milhões de onças de prata nos cofres das bolsas e dos bancos europeus e americanos. E os Hunts estavam comprados em 120 milhões de onças, para recebimento em março. A Clarence & Associados comprara 10 milhões. O Centro-Europeu adquirira 20.
Poucos profissionais, em todo o mundo, entendiam tanto de prata quanto Fernando Rabal, diretor do Banco Obrero da Cidade do México, um dos mercadores da noite. Rabal também comprara, na esteira dos Hunts, mas, ao contrário de Julius Clarence e Clive Maugh, tinha medo da operação.
Devido aos altos preços, várias minas antigas vinham sendo reativadas no México, Peru, Zâmbia, Estados Unidos e Canadá. No mercado varejista, os compradores haviam desaparecido. Em Nova York, nas lojas da Rua 47, pequenos poupadores vendiam, radiantes, jóias e moedas. Na Índia, onde o hábito de comprar prata como poupança remontava a vários séculos, também era grande o desinvestimento.
Na opinião do mexicano, os Hunts poderiam ter uma surpresa desagradável quando chegasse o mês de março. Muita prata poderia juntar-se ao estoque das bolsas e dos bancos, vinda de todos os lugares do mundo.
Havia outra razão para aumentar o temor de Rabal. Lera cuidadosamente o regulamento da Bolsa de Mercadorias de Nova York e verificara que, caso o corner se caracterizasse, as regras do jogo poderiam ser mudadas subitamente, obrigando os Hunts a liquidar suas posições.
Mesmo assim, Fernando continuava comprando. Mas com o dedo no gatilho, pronto a desfazer-se rapidamente de suas posições, quando a coisa começasse a cheirar mal. Rabal confiava muito em seu sexto sentido. Sempre tivera o dom de perceber, pouco antes da hora, o fim de todos os grandes bull markets, os mercados do touro.
Poucos dias antes do Natal, os Hunts elevaram suas posições para 140 milhões de onças. Julius Clarence, em Nova York, Clive Maugh, em Lausanne, e Fernando Rabal, na Cidade do México, seguiam seus passos. O resto do mercado, em sua maioria, encontrava-se vendido.
No último dia de 1979, uma segunda-feira, a prata marcou novo recorde. Fechou a 34 dólares e 45 centavos. Os operadores foram para as festas de fim de ano tomados de grande nervosismo, o habitual sangue-frio transformado em um sentimento próximo do pânico. Qualquer fato novo poderia detonar uma grande liquidação e arrebentar os comprados, os touros. Mas poderia também provocar novas altas e aniquilar os vendidos, os ursos.
Havia uma grande expectativa quando as cortinas desceram sobre a década de 1970.
CAPÍTULO 78
Os acontecimentos precipitaram-se no início de 1980. No dia 2 de janeiro, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Dois dias depois, Jimmy Carter decretou um embargo tecnológico aos soviéticos. A prata subiu para 36 dólares e 10 centavos.
A bolsa, seriamente preocupada com a possibilidade de corner, determinou que os clientes não poderiam aumentar suas posições. Nelson Bunker Hunt não se atemorizou. Anunciou sua intenção de exigir a entrega de 140 milhões de onças quando chegasse o vencimento, em março. O mercado, em estado de histeria, bateu limite de alta e, depois, de baixa. A prata fechou em 32 dólares após ter sido negociada por 40. Os operadores tinham os nervos à flor da pele.
Nos dias subseqüentes, a loucura tomou conta do mercado. Na segunda-feira, dia 14, a prata fechou a 43 dólares e subiu ao longo de toda a semana, para euforia dos touros e desespero dos ursos.
Embora permanecesse comprado, Fernando Rabal sentia-se cada vez mais desconfortável. Mesmo assim, não aparentava nervosismo ao sair de seu magnífico apartamento em Pedregal, domingo pela manhã, para um passeio com as crianças. Almoçou bem: uma tigela de guacamoles, fajitas de camarão de água doce e costillatos. Tentou despedir-se da mulher. Recebeu em resposta um grunhido ininteligível. Pegou o carro na garagem e foi para a Plaza.
Era alucinado por touradas. Pena que Cecilia as odiasse. Por isso, diminuía cada vez mais a freqüência. Não compensava vê-la emburrada por dias a fio. Mas, naquele domingo frio e ensolarado de inverno, os espanhóis Cilento e Parrado e o mexicano Emilio Russo trabalhariam na mesma corrida, pela primeira vez na temporada. Uma tarde imperdível para qualquer aficionado.
Precisamente às 5h da tarde, o espetáculo começou. As tribunas e arquibancadas repletas. Rabal comprara um dos melhores lugares, à sombra, na primeira fila, abaixo do presidente da corrida. Sentiu a pele arrepiar-se, como sempre acontecia, quando as cuadrillas encenaram o paseo, ao som de um pasodoble.
Terminada a solenidade, o primeiro touro foi solto. O bicho atravessou a arena e arremeteu contra a barrera, do outro lado, tirando uma lasca de madeira. Os banderilleros correram em sua direção, provocando-o com suas capas. Antonio Cilento, primeiro matador da tarde, pôde, então, fazer sua primeira avaliação sobre o temperamento do animal.
Na tribuna, Fernando Rabal enrugou a testa, apreensivo. A besta atacava de ambos os lados. Olhou para o matador, encostado a um dos burladeros. O espanhol também não gostara. Percebia-se sua contrariedade, enquanto ajeitava a coleta, tentando disfarçar.
A atenção do touro foi despertada por um cavalo, de olhos vendados, os flancos protegidos por um acolchoado, recém-chegado à arena, montado por um picador. Carregou sobre ele. O profissional sobre a sela cravou-lhe uma lança às costas, surpreendendo-o.
Sob protestos do público, a vara foi usada pela segunda vez. Os verdadeiros aficionados não gostam de picadores. Enfraquecem os músculos do pescoço do touro. Facilitam o trabalho do toureiro.
Antes de uma terceira picada, o picador olhou para o presidente. Este fez-lhe um sinal com um lenço, indicando que duas eram o suficiente. O público aplaudiu, entusiasmado. Cilento sacudiu a cabeça resignadamente.
Chegou a vez dos banderilleros. Um deles entrou na arena e correu em direção ao touro. Aplicou-lhe, com extrema maestria, as duas primeiras banderillas. Mas, quando seu companheiro se preparou para as seguintes, Cilento adiantou-se, pegou ele mesmo as farpas coloridas e correu em direção à fera. Só conseguiu colocar uma delas. Mesmo assim, o público aplaudiu. Todos sabiam que o matador não era bom com as banderillas. Seu forte era a capa, coisa que ia começar agora.
Por 10 minutos, o espanhol Antonio Cilento brindou o público da Plaza Mexico com uma série de passes magistrais. Rodopiava a capa em verónicas perfeitas, ajoelhava-se ao lado da fera, virava-lhe as costas arrogante. Transformava em bailado aquele pas de deux sanguinolento, enobrecendo a luta de vida ou morte entre o artista e o animal.
Olé! Olé!... O público acompanhava, entusiasmado.
Finalmente o matador foi até um burladero e equipou-se com a muleta e a espada para a parte final, a faena.
Antonio sabia que a morte, o momento de la verdad, era o clímax do espetáculo, a parte mais difícil e perigosa. De nada adiantava um trabalho perfeito com a capa se, ao final, a espada não entrasse com firmeza no morillo, através de um pequeno espaço entre os dois ombros da fera, pouco maior que uma moeda de meio dólar. A aorta seria, então, seccionada. A morte sobreviria fulminante.
Pouco restava da dignidade do touro. As costas, cobertas de sangue e suor, encontravam-se dilaceradas pela ação dos picadores. A cabeça agora permanecia baixa. As banderillas coloridas oscilavam de um lado para o outro, provocando intensa dor.
O inimigo continuava lá, em seu traje de luces, manejando sua capa ardilosamente.
O touro arremeteu pela última vez. O matador estivera esperando aquele momento e o aparou com a espada. Fez um misto de riso e careta quando o estoque entrou até o punho. O touro, primeiro, ajoelhou-se sobre as patas dianteiras e, depois, desabou sobre a areia. As arquibancadas e tribunas entraram em delírio quando o animal vomitou sangue, em seu último estertor.
Nesse momento, Fernando Rabal sentiu o aviso de seu sexto sentido: o sistema, assim como as touradas, tinha suas defesas, seus picadores, seus banderilleros. O bull market de prata, tal como o touro caído na arena da Plaza Mexico, chegara ao fim. Voltou para casa angustiado. Seria preciso aguardar a abertura do mercado, na segunda-feira, para liquidar sua posição e bandear-se para o lado dos ursos.
CAPÍTULO 79
Nas últimas semanas, milhões de pequenos investidores, em todo o mundo, vinham vendendo moedas, medalhas comemorativas, talheres, baixelas, castiçais, jóias, objetos de artesanato e toda a sorte de utensílios de prata. O metal, derretido pelos fundidores, transformava-se em lingotes. Simultaneamente, reativavam-se centenas de antigas minas. Os altos preços da prata voltavam a torná-las economicamente viáveis.
Toda essa prata, somada ao estoque das bolsas e dos bancos, ultrapassava em muito os cálculos dos irmãos Hunt.
Segunda-feira, 22 de janeiro de 1980, 8h45 da manhã em Nova York. Julius Clarence encontrava-se sentado em seu lugar, na plataforma de operações da Clarence & Associados. Do outro lado da mesa, exatamente à sua frente, Bernard Davish. Espalhados pela plataforma, em meio a uma floresta de monitores, painéis telefônicos, terminais de cotações e de notícias, somavam-se pelo menos cinco dezenas de profissionais.
Os mercados de moedas, eurodólares e títulos de curto prazo do Banco da Reserva Federal já se encontravam abertos. Algumas luzinhas nos monitores registravam as cotações. Mas ninguém lhes prestava muita atenção. Todos aguardavam a abertura da prata na Bolsa de Mercadorias de Nova York.
Na sexta-feira, o mercado fechara em 50 dólares e 35 centavos. Durante o fim de semana correram boatos de que a bolsa tomaria uma série de medidas, sem precedentes, para impedir o corner.
O preço oscilara muito no início daquela segunda-feira. Primeiro no Extremo Oriente, depois na Europa. Restava a arena de Nova York, onde se perpetrava o corner, palco principal daquela luta feroz entre touros e ursos.
Os dirigentes da bolsa sabiam que, caso os Hunts fossem bem-sucedidos em sua tentativa de corner, muitas corretoras quebrariam. A própria bolsa corria risco. Decidiram, então, alguns minutos antes da abertura, elevar drasticamente as margens de garantia e adiar a abertura da prata para a tarde, limitando o tempo da sessão a 40 minutos.
Seria preciso esperar mais 4 horas e 50 minutos.
Só à 1h45 da tarde soou a campainha. Clarence encontrava-se ao telefone. Do outro lado da linha, no saguão da bolsa, Jack Arbor, operador de pregão da Associados. Competiria a Jack receber as ordens de Julius e transmiti-las aos operadores no pit de prata. Ao redor de Clarence, na mesa, os demais operadores aguardavam em muda expectativa.
– Como abriu? – perguntou Julius, de pé, junto à mesa, ligando o viva voz do aparelho.
– Comprador a 48. Vendedor calado – respondeu Jack, para logo acrescentar: – Vendedor a 52. Até agora, nenhum negócio. Quarenta e oito com 52, este é o mercado. Pera aí... comprador a 49. Enfiaram nele. Negócios a 49. Mercado a 49. Vendedor a 48 e meio. É da Valmex. Valmex vende a 48 e meio. Está apregoando um lote grande.
Bernard, até então calado, embora atento, gritou para Clarence:
– Esses caras trabalham para Rabal, do Obrero.
– Não pode ser. – Julius tentava organizar-se mentalmente. “Valmex, Obrero, Rabal.” – Porra, o filho-da-puta está caindo fora. – Clarence sentiu uma sensação de extremo desconforto ao perceber que Rabal, aparentemente, liquidava sua posição. – Mercado? – gritou para Jack.
– Vendedor a 48. De Ville vendendo. Comprador só a 47 e meio. A De Ville enfiou nele. De Ville vende mais. Vende a 47. Porra, Julius, a De Ville vende lote. Comprador, calado.
– Centro-Europeu! – Julius e Bernard gritaram na mesma hora. O Sindicato operava prata através da De Ville.
Se Clarence sentira desconforto ao ver que Rabal vendia, agora apavorava-se, literalmente, ao ver o Sindicato pular fora. Os Hunts encontravam-se impossibilitados de segurar o mercado. A bolsa proibira o aumento de posições. Subitamente, sem consultar ninguém, nem mesmo Bernard, sentado à sua frente, Julius tomou sua decisão.
– Comprador? – gritou.
– Comprador só a 45 – berrou Jack. Valmex e De Ville vendem a 46. O resto calado.
– Vende, porra – gritou Julius. – Enfia a 45. Vende 1 milhão. – Referia-se a 1 milhão de onças, 200 contratos de prata.
– Vendemos 100 mil a 45.
– Cem mil, puta que o pariu, 100 mil! Assim estamos fodidos. Comprador? Quero comprador de lote, caralho. É melhor ficar quieto. Espera um comprador de lote grande.
A Valmex e a De Ville também se aquietaram. Fernando Rabal, no México, e Clive Maugh, em Lausanne, tal como Julius Clarence, em Nova York, aguardavam um comprador de verdade.
Com a ausência de vendedores, o mercado melhorou. Alguns touros se excitaram. O ataque dos ursos, tudo indicava, chegara ao fim.
Do pregão, Jack Arbor irradiava:
– Comprador a 46. Comprador a 46 e meio. Pagaram 47. Comprador a 47. Comprador de 1 milhão a 47.
Tal como um pescador de marlins, aguardando o momento certo de travar a carretilha, Rabal, Maugh e Clarence, separados por milhares de quilômetros, permaneciam quietos.
– Comprador de 5 milhões a 47 – Jack entusiasmou-se.
– Enfia! – Julius foi o mais rápido dos três.
– Vendidos 5 milhões a 47. Comprador a 46.
– Lote. Diga o lote, porra – Julius deu uma tragada, que consumiu um terço do cigarro.
– Comprador de 500 mil a 46. De Ville vendeu para ele.
– Espera. Quero um lote fodido de grande.
– Comprador de 3 milhões a 45.
– Enfia agora, porra. Não perde, Jack. – Clarence deu um murro na mesa.
– Vendemos 3 milhões a 45.
Julius relaxou.
– Vá com calma agora, garoto. Falta apenas 1 milhão e 900. Vou passar para Davish. Pega, Bernard. Completa o lote. Ainda temos... deixe-me ver... 11 minutos.
No tempo restante, Bernard liquidou o saldo. Como também o fizeram Fernando Rabal, da Cidade do México, e Clive Maugh, de Lausanne.
A prata cedeu mais ao longo daquela semana. Fechou na sexta-feira a 37,50. Na quarta-feira, 31 de janeiro de 1980, o mercado já caíra para 30,05.
A Clarence & Associados obteve, com seus 10 milhões de onças, um lucro de 100 milhões de dólares. O Centro-Europeu, que comprara mais caro e vendera mais barato, mesmo assim ganhou mais, 150, pois adquirira o dobro. Fernando Rabal não trabalhava lotes tão grandes. Ganhou 25 milhões, o melhor resultado de sua vida.
Os irmãos Hunt, impedidos pela bolsa de aumentar suas posições e defender o mercado, perderam grande parte de sua fortuna. A tentativa de fazer um corner no mercado de prata fracassara.
O velho Dad Joiner, o homem que farejava petróleo debaixo da terra, fora vingado.
O mercado só voltou a ter momento tão dramático quando, quase 20 anos depois, Julius Clarence, como touro, e Clive Maugh, como urso, travaram uma luta de vida ou morte com os títulos da dívida do Eurotunnel.
CAPÍTULO 80
Após a jogada da prata, Julius diminuiu seu ritmo de trabalho. Já não chegava tão cedo ao escritório e, muitas vezes, voltava para casa antes dos fechamentos. Pouco ia à cobertura do parque, de onde Jesus fora transferido para a suíte da Liberty Tower. Ainda trabalhava nas noites de domingo, mais para conversar com os amigos e parceiros do que para arriscar-se em nova tacada milionária. Mas o fazia do escritório de Greenwich, quase nunca da suíte.
Tinha agora outros interesses: conviver mais com Jessica, conhecer lugares novos, adquirir obras de arte, enriquecer sua biblioteca. Lia vários livros ao mesmo tempo. Gostava de ler na limusine, no trajeto entre a casa e o trabalho. Antoine, quando via, pelo retrovisor, o patrão lendo no banco traseiro, dirigia devagar, evitando freadas e aceleradas mais bruscas. Julius só fechava o livro quando entravam na garagem da Liberty Tower ou, na volta, cruzavam o portão da mansão de Greenwich.
Os preços do petróleo, metais preciosos e produtos agrícolas caíam no início da nova década. A inflação, finalmente, começava a ceder nos Estados Unidos e demais países industrializados.
Os negócios de Clarence iam bem, sob a condução de profissionais capacitados. Ele resumia-se a presidir as reuniões de diretoria do Manhattan, da cadeia Bars e da Andromeda. Mas, quando não estava viajando, ocupava diariamente seu lugar à mesa de operações da Associados.
No verão de 1980, Julius e Jessica viajaram para Londres. Pretendiam realizar um sonho antigo: adquirir uma mansão na Inglaterra. Margaret Thatcher adotava uma política econômica austera, decidida a combater a inflação, provocada pela crise do petróleo. Taxas de juros altíssimas derrubavam os preços dos imóveis. O casal Clarence pretendia, no início, algo simples, apenas um lugar para usufruir da paisagem rural inglesa. Mas não resistiram quando conheceram Lakeswater.
A propriedade compreendia um solar com três pavimentos e um sótão, algumas construções anexas, jardins, piscina e 60 mil metros quadrados de bosques. Construída no século XVIII, situava-se em Kent, a meio caminho entre Londres e Dover.
A construção principal formava um U, uma das pernas menor que a outra. A parte baixa da fachada, revestida de pedra, os andares superiores, pintados de branco. Janelas projetadas para fora, quatro mansardas e seis conjuntos de chaminés davam-lhe um toque de nobreza e originalidade.
A biblioteca, no andar térreo, destacava-se dos demais aposentos. O assoalho de tábuas corridas, as quatro colunas e o teto abobadado emolduravam estantes de mogno, dispostas ao longo de paredes côncavas. Ainda no mesmo plano, era possível admirar a sala de jantar, o salão laranja e a sala de música, com um piano quadrado do século XVIII e uma harpa Erard. Um amplo conjunto de copa e cozinha atendia aos cômodos.
Um pequeno elevador, recentemente adaptado, permitia aos moradores e convidados eximir-se das enormes escadas de mármore, que conduziam aos outros pavimentos, às suítes, banheiros e salas íntimas.
Jardins situados em dois planos ladeavam o solar. Na parte de cima, ao nível do andar térreo da mansão, canteiros de flores, fícus moldados, um tanque com chafariz e alguns arbustos enfileirados. Estes separavam da casa principal as construções secundárias: garagem, celeiro, aposentos da criadagem, estufa e, mais adiante, os espaçosos estábulos, com alguns belos exemplares árabes.
Na parte inferior, mais jardins e a piscina. Os dois planos eram unidos por uma graciosa escada em semicírculo. Mais adiante, bosques.
Lakeswater foi adquirida, completa e mobiliada, de uma família em dificuldades com os impostos que a Dama de Ferro impunha aos ingleses naqueles anos difíceis. Levando-se em conta as benfeitorias, o mobiliário e as obras de arte, os 4 milhões de libras foram uma pechincha.
O casal passou a maior parte do verão conhecendo e ganhando intimidade com a nova casa e cavalgando os garanhões árabes pelos bosques ao redor. Mas, por mais que convidassem amigos americanos, e ingleses apresentados por Basil Kennicot, tornava-se difícil preencher os espaços naquela imensidão.
Clarence gostou tanto de Lakeswater que só retornou a Nova York, e a seus afazeres cotidianos, em setembro, pouco antes de o Iraque atacar o Irã.
CAPÍTULO 81
Quando Francine Kéraudy entrou em sua suíte no Le Richemond, em Genebra, encontrou, além de uma camareira a postos para ajudá-la a desfazer as malas, uma cesta de frutas exóticas, arranjos de flores frescas e produtos de toalete com suas marcas preferidas. Só não encontrou a tradicional garrafa de champanhe com que o hotel costumava mimosear seus hóspedes, à chegada. Os gerentes do Le Richemond conheciam o suficiente sobre cada um de seus habitués para que não cometessem nenhum deslize imperdoável.
Francine deixou suas coisas aos cuidados da camareira e desceu para almoçar no Le Jardin. Mais tarde, voltaria ao luxuoso aposento, todo ele decorado com móveis Luís XV, antigüidades, relógios raros, obras de arte e outras preciosidades. No Le Richemond, o requinte fazia parte do cotidiano. Após o almoço, pretendia voltar à suíte e preparar-se para um encontro, de extrema importância, ali mesmo no hotel, às 5h da tarde.
A duas dezenas de passos, em outra suíte, não menos ampla e luxuosa, porém no estilo Luís XVI, Alicio Garcia também acabara de chegar ao hotel. Garcia precisava de tempo para acostumar-se àquele luxo. Por isso, dispensou a camareira, que o deixava pouco à vontade. Despiu-se e, só de cuecas, passou a examinar o aposento. Provou um pouco de cada coisa. Finalmente, decidiu-se por um Jack Daniels, on the rocks. Preparou uma dose generosa, espalhou-se em um sofá e colocou os pés sobre uma mesinha. Estava começando a gostar. Arrotou prazerosamente.
A bebida despertou seu apetite. Verificou as horas. Tinha muito tempo antes do encontro com a senhora Kéraudy. O mais discreto e conveniente seria pedir algo no quarto. Mas, depois de manusear um folheto explicativo dos serviços do Le Richemond, Garcia não resistiu. Resolveu descer ao Le Jardin. O maître indicou-lhe uma mesa, a poucos metros de onde estava Francine.
Ela o reconheceu imediatamente. O setor de informações da Midi-Pyrénées já a municiara com sua foto. O mesmo se passou com ele. Já estudara o dossiê da francesa. Mas nenhum dos dois deu qualquer sinal de haver reconhecido o outro.
Francine optou por uma refeição leve. Em 40 minutos, retornou à suíte. Garcia comeu à tripa forra: caviar, salada, peixe, carne e sobremesa. Bebeu dois tipos de vinho e, ao final, deliciou-se com um magnífico licor. Fechou com um Havana. Só então subiu ao quarto.
Exatamente às 5h da tarde, Francine Kéraudy bateu à porta da suíte do brigadeiro Alicio Garcia, chefe do Estado-Maior da Força Aérea da República Argentina.
O militar viajara a Genebra especialmente para concluir a compra de 50 mísseis Antares da Midi-Pyrénées. A encomenda fazia parte de um conjunto de providências secretas do governo de seu país. A junta militar, liderada pelo tenente-general Jorge Videla, planejava, debaixo de grande segredo, invadir e tomar de volta as ilhas Falklands – chamadas pelos argentinos de Malvinas –, ocupadas pelos ingleses em 1833. O general Videla pretendia legar a seu sucessor o plano de invasão.
Os militares consideravam de suma importância retomar as Malvinas. Não tanto por seu valor material. A economia do arquipélago resumia-se à criação de carneiros. Interessavam-se pela popularidade que poderia advir de um grande triunfo militar. Planejavam obtê-lo, no máximo, em dois anos. Para tanto, era preciso uma força aérea bem equipada para desencorajar uma reação dos ingleses. Daí o interesse pelos Antares.
Para encontrar-se com Garcia, Francine jogara um blazer manteiga sobre a calça de linho e a blusa de seda. Como jóias, um conjunto de colar e brincos de pérola, um Rolex de ouro e, no dedo mínimo, um anel Cartier. Nos pés, escarpins rasos. Os cabelos, improvisara-os, ela mesma, em coque.
O brigadeiro procurara vestir-se com apuro, apesar de o encontro ser em sua própria suíte. Usava um terno cinza, novo, embora de corte um tanto quanto ultrapassado, e uma gravata vermelha com arabescos. Emplastrara e repartira cuidadosamente os cabelos.
– Brigadeiro Garcia? – Francine estendeu-lhe as pontas dos dedos.
– O próprio, senhora Kéraudy. Entre, por favor. Desculpe-me não havê-la cumprimentado no restaurante. Achei que não seria conveniente. – Embora falasse razoavelmente bem o inglês, resultado de uma missão no Colégio Interamericano de Defesa, em Washington, sua pronúncia era simplesmente horrível.
– Compreendo perfeitamente, brigadeiro – Francine penetrou a suíte.
Garcia conduziu-a a um dos sofás. Sentou-se na poltrona ao lado.
– Posso pedir-lhe alguma coisa, senhora? Quem sabe, um chá.
– Não, obrigada. O pessoal do serviço de quartos nos veria. O sigilo, penso eu, atende melhor a nossos interesses.
O militar concordou. Mas precisava servir alguma coisa. Desajeitadamente, colocou sobre a mesa, à frente de Francine, a cesta de frutas e uma caixa de bombons.
– Recebi com surpresa seu convite, brigadeiro. Pensei que meu representante em Buenos Aires já acertara tudo sobre os Antares. – O agente da Midi-Pyrénées na América do Sul, Pablo Mauru, vinha, com extrema habilidade, vendendo armas, simultaneamente, aos militares argentinos e à ditadura chilena de Augusto Pinochet.
Mauru sequer imaginava a hipótese de uma invasão das Falklands. Entretanto, explorava a crescente tensão entre os ditadores Videla, da Argentina, e Pinochet, do Chile, resultante da disputa pela soberania sobre três ilhas no canal de Beagle, no extremo sul da Patagônia.
– Convoquei-a para tratar do preço – Garcia apressou-se em esclarecer. – Tivemos uma reunião em Buenos Aires, semana passada, e decidimos renegociar a compra dos Antares.
Francine irritou-se. Seu representante argentino afirmara-lhe, categoricamente, que o preço estava acertado. Agora, o brigadeiro falava em renegociação.
– Desculpe-me, senhor, mas fechamos o negócio a 300 mil por unidade. Isso dá um total de 15 milhões. Já calculamos nossos custos e não temos condições de conceder um abatimento. – Francine, então, parou, pensou um pouco e concluiu: – Posso reduzir mais 3%, 450 mil dólares no total da encomenda. No máximo, brigadeiro. Caso contrário, teremos que cancelar a operação.
– Senhora Kéraudy – disse sorrindo o brigadeiro. – Quando decidimos renegociar os Antares, pensamos em um aumento, não em uma redução: 20% de acréscimo, para ser mais preciso.
Francine compreendeu imediatamente. Garcia pleiteava algo para si próprio ou para seu grupo – nunca se sabia exatamente para quem ia o dinheiro. Aquilo tornava as coisas mais fáceis. Bastava o brigadeiro indicar-lhe onde fazer o depósito. Assentiu imediatamente. A Midi-Pyrénées estava habituada a superfaturar e devolver o excedente aos compradores. O governo francês sabia disso e permitia que a comissão fosse deduzida dos impostos. Uma prática corriqueira no negócio de armas.
O brigadeiro apressou-se em justificar.
– É preciso que uma coisa fique clara – disse ele. – Os 20% irão para um fundo de reserva. Foi constituído especialmente para amparar as viúvas e órfãos dos militares assassinados pelos terroristas. São os Montoneros, um grupo de sediciosos selvagens que ataca nossos homens à traição.
– Tenho certeza de que irá para causas nobres. – Seria impossível perceber qualquer ironia na voz de Francine. – Tão logo recebamos o pagamento por parte de seu governo, depositaremos os 20%: 3 milhões de dólares, exatamente.
O brigadeiro retirou do bolso um pedaço de papel. Em letras miúdas, manuscritas, o nome do Banco Centro-Europeu de Lausanne. Abaixo, uma série de números correspondentes à conta na qual o depósito deveria ser feito.
Tratava-se de uma conta grande, com mais de 100 milhões de dólares. Fora aberta quatro anos antes, logo após a deposição da presidenta argentina Isabelita Perón. Ao final de cada ano distribuía-se o saldo por diversas subcontas. Garcia era o encarregado da divisão, além de ser o titular de uma delas. Por isso, surpreendeu-se agradavelmente quando a francesa lhe propôs:
– Brigadeiro, com relação àqueles 3% que, de início, propus abater do preço dos mísseis, caso o senhor tenha alguma outra conta, poderemos, a título de estímulo para novos negócios, fazer um depósito.
Alicio Garcia exultou: 450 mil dólares a mais para ele. Era preciso encarar o futuro. Ditaduras não duram para sempre, tinha consciência disso. Preencheu rapidamente um novo papelote com as instruções de sua subconta particular no Centro-Europeu e o estendeu a Francine.
O brigadeiro passava por um período extremamente estressante. Custava a dormir, à noite. E, quando o conseguia, era acometido de pesadelos horríveis. Não sem razão.
Uma vez por semana, um quadrimotor Hercules, da Força Aérea Argentina, decolava, lotado de presos políticos, e voava para longe da costa. Já em alto-mar, os presos, narcotizados, eram lançados do aparelho, mergulhando para a morte. Já podiam ser contados aos milhares.
Alicio Garcia fora encarregado dessa “solução final” do problema político argentino. Por isso, tinha dificuldade de conciliar o sono. Por isso, prevenia-se para o futuro, aumentando constantemente sua poupança no Sindicato.
Havia outro problema. Anualmente, na hora de dividir, com seus camaradas, o saldo da conta principal, Garcia alocava para si uma fatia substancialmente maior. Se os outros viessem a descobrir, poderia considerar-se um homem morto. E ele conhecia, nos mínimos detalhes, os suplícios que seus colegas sabiam infligir a um homem antes de matá-lo.
Alicio Garcia e Francine Kéraudy nada mais tinham a tratar. O argentino pretendia voar para Paris ainda aquela noite para encontrar-se com a mulher. Estava satisfeito. Tinha certeza de que novos e promissores negócios surgiriam no futuro.
Francine despediu-se e retornou à sua suíte. Àquela altura, Catherine deveria estar chegando a Genebra. Passariam a noite juntas, longe dos negócios e de olhares curiosos.
CAPÍTULO 82
Meio-dia em Nova York. Na plataforma de operações da Clarence & Associados, os operadores encontravam-se agitados. O Iraque invadira o Irã, nos últimos dias do verão, provocando uma súbita e inesperada alta no petróleo. Os profissionais gostavam desses eventos. Esquentavam o mercado. Naquele dia, a mesa encontrava-se especialmente animada.
Debra Thomas, operadora de petróleo, centralizava as atenções.
– Puta que o pariu – gritava ela. – Comprador de 200 lotes (cada lote equivalia a mil barris) a 39,10. Se alguém quiser comprar, é bom fazer logo. Já, já, o fodido do petróleo – Debra era a pessoa mais desbocada da mesa e, com isso, deixava os colegas homens extremamente à vontade – vai para o limite e ninguém vai poder comprar.
– Fique atenta, Debby – berrou Julius do outro lado, onde operava obrigações do Tesouro. – Se chegar perto do limite, me avise. Estou short em 100 lotes e não quero ficar trancado lá em cima. Mas acho que o mercado não vai agüentar.
Alguns minutos depois, tal como ele previra, o mercado desabou.
Debra, que comprara para seus clientes – os operadores podiam adotar posições antagônicas ao patrão –, liquidou suas posições rapidamente, com um pequeno prejuízo.
– Esse Julius é mesmo um fodido de um operador – disse ela, admirada. Mas Clarence não ouviu. Prestava atenção ao mercado de ouro, que começava a cair, acompanhando o petróleo. Uma ligação de fora o aguardava.
– Vende 100 lotes (referia-se a 10 mil onças de ouro) a mercado. Enfia no comprador, porra – instruía ele ao pregão. Tinha de, praticamente, urrar, pois, a seu lado, Tony Bianco esgoelava-se para comprar mil toneladas de açúcar, abafando todas as vozes a seu redor. Precisava mandar o Bianco lá para o outro lado da mesa. Ou ele mesmo, Julius, mudar-se-ia. Caso contrário, ficaria sem as cordas vocais. Atendeu a ligação.
– Senhor Julius Clarence, aqui fala...
– Um momento. Porra, vamos comprar obrigações, todo mundo comprando obrigações, o petróleo está caindo, as obrigações vão subir.
– Senhor Julius Clarence, aqui fala o patrulhei...
– Pera aí, amigo. – Apertou a tecla de sigilo do fone. Virou-se para os outros. – As obrigações estão subindo, caralho, todo mundo comprando obrigações. Até você, Tony. – Desligou o sigilo. – Pode falar, amigo.
– O senhor quer fazer o favor de me escutar? Meu nome é Robin Field, sou da Polícia Rodoviária de Connecticut. Sua esposa, Jessica Clarence...
Bernard, em frente a Julius, percebeu que algo havia acontecido. Fez sinal com as mãos para que os outros se aquietassem.
– Sua esposa, Jessica Clarence – repetiu o patrulheiro –, sofreu um acidente. Ela está morta, senhor Clarence.
CAPÍTULO 83
Julius estava radiante. Os homens cantavam em swahili e marcavam o ritmo, batendo com os pés no assoalho do caminhão. À frente, enquanto guiava, Clarence tamborilava os dedos sobre o volante, acompanhando a batida.
O sol desaparecia atrás do Kilimanjaro, ao longe, à traseira do caminhão. Era a hora do dia de que mais gostava, quando se encontrava no Quênia. Viera especialmente de Nova York para acompanhar o administrador Temo Olote na inspeção trimestral dos rinocerontes. E pela primeira vez na história da reserva o procedimento não acusava falta de nenhum animal. Por isso sentia-se tão contente.
A caça era proibida no país, mas isso não impedia que aqueles grandes mamíferos se tornassem presas fáceis de caçadores clandestinos. Seus chifres obtinham altos preços no mercado asiático devido à crença de que tinham poder afrodisíaco.
Olote e seus homens haviam implantado, no chifre superior de todos os rinocerontes da reserva, um pequeno aparelho radiotransmissor. Assim, tornava-se uma tarefa fácil a contagem dos animais. Mas era preciso inspecionar cada um deles, verificar seu estado geral. Fazia-se necessário narcotizá-los, o que demorava. Dessa vez, a inspeção durara quatro dias, durante os quais Julius, Temo e os outros dormiram em tendas. Agora, retornavam à sede da reserva, junto à casa de Clarence.
As chuvas ainda não haviam chegado. O caminhão, um jipão militar adaptado, equipado com tração nas seis rodas, sacolejava e deixava um rastro de poeira. Os homens, aboletados na carroceria, eram kikuyus e trabalhavam sob as ordens de Olote, zoólogo formado pela Universidade de Nairóbi, doutor em grandes mamíferos. Riam gostosamente quando um obstáculo fazia o veículo dar um salto ou obrigava Julius a executar uma guinada mais súbita. Nessas ocasiões, o canto alegre misturava-se às gargalhadas.
Já quase 10 anos haviam se passado desde a morte de Jessica. Julius, próximo dos 50, era agora totalmente grisalho, talvez mais bonito, melancólico. Como ela teria gostado da reserva, da fazenda e dos rinocerontes, os protegidos de Clarence, principal razão da existência da Fundação Jessica Clarence.
Jessica morrera em um engavetamento de veículos, na Interestadual 95, em conseqüência de um nevoeiro. Fora abalroada por trás, por um caminhão, quando saltava do carro, após ter batido em outro, que freara à sua frente. Não sofreu grandes ferimentos. Mas, ao bater com a nuca na coluna divisória entre as portas, fraturou o pescoço. Sua morte foi instantânea.
Foi enterrada na fazenda dos pais, em Hooppole, não muito distante de Davenport. Foram todos. Além de Julius, dos pais, irmãs, cunhados e sobrinhos, Lisa e Bernard, Lora e Martin, Claire Kellegher, Cora e Basil Kennicot, Diane, Teresa, Jesus, Antoine, Alan Payne, Stella e David Lowell, Stephanie e George, o ex-marido Andrew, Jack West, do Oregon, Constantine, de Paris, o pessoal da Associados, do Manhattan, da cadeia Bars e da Andromeda.
Francine Kéraudy, apesar do ocorrido entre as duas, sentiu a morte da ex-amiga e confidente. Enviou um telegrama de Bagdá, onde se encontrava a negócios.
Jessica permaneceu bela, no caixão, como fora em vida. Julius manteve-se a seu lado, quieto, silencioso, o olhar fixo no corpo adormecido. Nunca mais ouviria suas baladas. Não mais rolariam na cama, presas de fúria passional. Nem veriam, do alto da Liberty Tower, o amanhecer no estuário do Hudson. Não mais navegariam no Miss Montego. Nem galopariam nos bosques de Lakeswater.
Clarence retornou a Nova York. Nos meses seguintes à morte de Jessica, não bebeu nem tomou comprimidos para dormir. Tinha plena consciência de que, se começasse, não haveria retorno. Tinha pela frente uma luta feroz contra a solidão e a desesperança. Seus pais já haviam morrido há muito. Não tinha irmãos, filhos, sobrinhos, nada. Julius Clarence só tinha a si mesmo, seus poucos amigos e seus negócios. Mergulhou no trabalho obstinadamente, lutando ferozmente contra a falta de entusiasmo.
Nos primeiros anos da década de 1980, abriu o capital da Clarence & Associados e vendeu ao público boa parte de suas empresas. Já não precisava recorrer a outros bancos para financiar suas aventuras especulativas. E, ironicamente, os banqueiros tradicionais agora insistiam em emprestar-lhe dinheiro. Mas Julius desdenhava. O especulador aventureiro cedera a vez ao filantropo, protetor das artes e das letras, defensor da natureza.
Ao comprar a Andromeda, em 1975, Julius herdara, automaticamente, as terras de Henry Knox, no Quênia. Um ano após a morte de Jessica, decidiu conhecê-las. A fazenda fazia fronteira com o Parque Nacional Tsavo, de preservação da vida selvagem.
Transformou a fazenda em fundação, deu-lhe o nome de Jessica e iniciou um programa de preservação de rinocerontes africanos, ameaçados de extinção. Reuniu diversos exemplares das espécies branca e negra, de dois chifres. Passou a mantê-los sob vigilância. Os animais multiplicaram-se. Eventualmente, um ataque de caçadores inescrupulosos reduzia o grupo. Mas, após a contratação de Temo Olote, o número jamais parou de crescer.
Em 1982, Julius comprou um Boeing 727-100 usado, pintou-o de preto e mandou colocar na cauda, abaixo dos profundores, a marca de dois chifres da fundação. Dificilmente ficava mais de três meses sem ir ao Quênia.
Com o tempo, voltou a dedicar-se aos negócios. Adquiriu a Vitalis, uma indústria de alimentos em Pittsburgh. Mas só se interessou novamente pelo mercado na segunda metade da década, quando comprou a Trans Atlantic Airways, em um ousada jogada de takeover, financiada com a emissão de obrigações de segunda classe, junk bonds, como eram conhecidas em Wall Street.
Voltou a Lakeswater cinco anos após a morte de Jessica, apenas para assinar a doação da propriedade ao Jessica Clarence Memorial Institute, fundado para ajudar na pesquisa sobre a Aids.
Em 1986 viveu um caso rumoroso e fugaz com Susie Anderson, estrela de Hollywood. Dois anos mais tarde, conheceu Marla Kobrovsky, magistral operadora de junk bonds, com quem manteve um affaire prolongado. Chegou a levá-la para alguns fins de semana em Greenwich. Depois, acabou.
Como a Guerra das Falklands dera grande prestígio aos Antares, Francine Kéraudy vendeu, sem dificuldade, centenas a Saddam Hussein, o até então pouco conhecido ditador do Iraque. A transação foi financiada por bancos americanos e europeus. Na época, o Ocidente esmerava-se em ajudar os iraquianos na guerra contra o Irã, este, sim, o grande inimigo.
De cliente da Midi-Pyrénées, o brigadeiro Alicio Garcia tornou-se agente. O melhor deles. A ditadura militar chegara ao fim em 1983. O Congresso argentino decretara a anistia (Punto Final). Garcia saiu ileso, reformado e milionário. Ofereceu-se para trabalhar para os franceses e, com grande habilidade, vendia mísseis ao Irã, através de uma sofisticada conexão israelense, enquanto Francine municiava o Iraque.
A conta do ex-brigadeiro no Centro-Europeu continuou crescendo. Seus colegas das Forças Armadas jamais haviam desconfiado da partilha do dinheiro ali depositado. Mudara-se para Paris, onde mantinha um belo apartamento na Avenue Kléber. A lembrança dos vôos da morte, quando os presos eram lançados no espaço, tornou-se uma coisa vaga, longe no tempo.
Agora, Alicio Garcia dormia tranqüila e sossegadamente.
CAPÍTULO 84
Nem mesmo Otto Behr ousava interromper Clive Maugh sem aviso prévio. Esperou pacientemente que a secretária o anunciasse. Só então entrou na sala do diretor de Operações.
Era verão de 1990. Maugh vestia uma roupa leve, terno azul-marinho de tropical, gravata da mesma cor. O paletó encontrava-se às costas da cadeira. A camisa social, branca, de mangas curtas, deixava à mostra os antebraços peludos. O diretor de Operações encarou Otto por cima dos óculos. Fez sinal para que se sentasse.
– Acho que descobri a ponta de um iceberg – disse Behr. – Tenho quase certeza de que algo muito importante está para acontecer no mercado de petróleo.
Clive interessou-se imediatamente. Desviou o olhar do terminal de cotações a sua frente. Esperou que o outro continuasse.
– Schneider – disse Otto, referindo-se a Jacques Schneider, da Contabilidade e Controle – me informou que, nas duas últimas semanas, sofremos saques pesados em algumas contas.
– Coisa muito grande? – perguntou o inglês.
– Nada de assustar. O problema não é quanto saiu, mas de onde saiu.
– Pois bem, de onde saiu? – Maugh preferia que Behr fizesse menos rodeios.
– De algumas contas iraquianas, gente importante. Todos ligados à família Talfah. Khayr Allah Talfah é tio de Saddam Hussein. Foi quem o criou, pois o pai de Saddam morreu antes de ele nascer. Uma dessas contas pertence aos herdeiros de Adnan Khayr Allah Talfah, cunhado e primo de Hussein, que morreu ano passado, em um desastre aéreo. Exercia, na época, o cargo de ministro da Defesa.
Maugh pressentiu chumbo grosso. Inclinou-se para ouvir melhor.
– O segundo saque veio da conta de Hussein Kamil al-Majid, primo e genro de Saddam. Os membros da família casam-se entre si – explicou. – Al-Majid é quem compra armas para o Iraque. Acaba de encomendar à Midi-Pyrénées sensores ultra-sofisticados para equipar os mísseis soviéticos Scud, que os iraquianos têm em profusão.
– Mais algum? – perguntou o diretor de Operações.
– Diversos. Todo o pessoal de Tikrit está retirando dinheiro. É uma cidade pequena, ao norte de Bagdá, onde Saddam Hussein nasceu e onde recruta a maior parte de seus ministros e homens de confiança. É possível que essas contas pertençam ao próprio Saddam – acrescentou Behr, baixando a voz para criar um clima de mistério.
– Bem – disse Clive. – Os iraquianos estão fazendo grandes retiradas. Mas por que você acha que isso é a ponta de um iceberg?
– Porque o dinheiro está indo para a Svarzo. – Referia-se à Svarzo & Partners, uma das maiores corretoras londrinas. – E a Svarzo está comprando, em Nova York e Londres, grandes quantidades de opções de petróleo, vencimento em setembro, strike de 25 dólares. Está comprando para os iraquianos – disse Otto, entusiasmando-se. – Soube ontem, de fonte limpa – completou.
Aquilo era realmente importante. O petróleo encontrava-se, naqueles primeiros dias de julho, a 18 dólares o barril. Havia abundância do produto, pois o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e o próprio Iraque trapaceavam, produzindo além de suas cotas, fixadas pela OPEP.
Uma opção para setembro, strike 25 dólares, garantia a seu proprietário o direito de comprar petróleo futuro Setembro pelo preço de 25. As opções expiravam na sexta-feira, dia 11 de agosto. Para um comprador de strike 25 ganhar dinheiro, seria preciso que, antes de 11 de agosto, o petróleo subisse de 18 para mais de 25 dólares, coisa altamente improvável, com tanto produto no mercado e faltando tão pouco tempo para o vencimento. Por isso, as opções de 25 valiam apenas alguns centavos por barril.
A não ser que acontecesse um imprevisto, algo grande, que provocasse pânico no mercado. E foi o que imediatamente ocorreu a Clive Maugh.
– Você... acha que os iraquianos estão preparando uma surpresa? Um grande iceberg? – perguntou, já decidido a comprar opções de petróleo para suas carteiras.
Às 2h da manhã de 2 de agosto, nove dias antes do vencimento das opções, divisões motorizadas iraquianas, totalizando mais de 100 mil homens, cruzaram a fronteira com o Kuwait e correram, celeremente, pela auto-estrada de seis pistas que leva à capital.
Com a invasão, o preço do petróleo disparou. Em poucos dias, pulou de 18 para 30 dólares. O Sindicato comprara opções de strike 20, 21 e 22 dólares e, mais uma vez, obteve um grande lucro para suas carteiras graças às suas informações privilegiadas.
Clive Maugh já trabalhava no Centro-Europeu há 23 anos. Agora, administrava bilhões. Nos últimos anos, conseguira estar do lado certo em quase todos os movimentos do mercado.
Estivera vendido em ações no crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1987. Ganhara uma fortuna comprado em marco da Alemanha Oriental, antes da queda do muro de Berlim, em outubro de 1989.
Tornara-se um especialista em descobrir novas empresas, ainda desconhecidas do grande público, mas que apresentassem um grande potencial. Fora um dos primeiros a comprar ações da Cyberia, antes de Arthur Clusky inventar o Waves e revolucionar o mercado de software.
Outra de suas especialidades era descobrir empresas em dificuldades financeiras, mas possuidoras de grande patrimônio. Clive comprava o controle em bolsa, ou no mercado de balcão, e, depois de retalhá-las, vendia os pedaços, com grande lucro.
Era senhor absoluto do Sindicato. Os outros diretores dificilmente o contestavam. Otto Behr trabalhava praticamente só para ele. Seu nome era citado por profissionais dos cinco continentes com respeito e admiração. Clive Maugh, diziam, era grande, o melhor de todos.
Mas, longe de estar satisfeito, Maugh sentia-se entediado. Raramente chegava cedo ao escritório. Já não dormia no apartamento ao lado da sala de operações. Há muito não trabalhava aos domingos. Aos poucos, afastara-se dos outros mercadores da noite.
O inglês Clive Maugh, diretor de Operações do Banco Centro-Europeu de Lausanne, só agora percebia a verdade: o importante não era vencer, e sim infligir uma grande derrota. Não bastava ser um ganhador. Era preciso haver um perdedor, palpável, conhecido de todos, um homem de mercado. E, no entanto, seu arqui-rival e inimigo, Julius Clarence, encontrava-se ausente, cuidando de rinocerontes, ridículos e estúpidos rinocerontes.
Era preciso atraí-lo de volta, para que pudessem, novamente, bater-se na arena exclusiva dos gladiadores do capital selvagem.
Dessa vez Maugh teria de agir sozinho. Dificilmente seus companheiros concordariam com uma vendeta pessoal, despropositada, levando o Sindicato a correr riscos desnecessários. Por isso, escolhia, cuidadosamente, um agente para operar exclusivamente para ele, alguém que não tivesse outra escolha a não ser ajudá-lo a destruir Julius Clarence, suas empresas, suas fundações, sua reputação e seus malditos rinocerontes. Então, sim. Seria um verdadeiro vencedor.
CAPÍTULO 85
Clarence permaneceu ainda alguns dias na reserva. A fauna era abundante. Rinocerontes, zebras, girafas, alguns grandes elefantes africanos e diversas famílias de leões podiam ser observados em meio ao capim alto, dourado naquela época do ano, que crescia entre as árvores espaçadas da savana.
Finalmente Julius retornou a Nova York. Vinha, aos poucos, interessando-se novamente pelo mercado. Trabalhava agora principalmente com ações, não as blue chips, conhecidas de todos. Gostava de descobrir empresas novas, que estivessem desenvolvendo um produto promissor. Era fascinante vê-las subindo cada degrau da escada do mercado. Descobri-las era uma espécie de caça ao tesouro, à qual Clarence se entregava com cada vez mais entusiasmo e dedicação.
Havia também os japoneses. Estes o assediavam, há vários meses, insinuando uma sociedade. Julius conhecia pouco do Japão e de seus empresários. No episódio da Andromeda, ficara abertamente contra eles, na campanha “Compre americanos”. Mesmo assim, o grupo Shirayshi insistia para que ele os visitasse e ouvisse uma proposta formal de associação entre a Clarence & Associados e a Yamakawa Securities, corretora e braço financeiro do poderoso conglomerado japonês.
Nos últimos 10 anos, o iene valorizava-se, sistematicamente, frente ao dólar. Isso permitia que os japoneses comprassem, em quantidade cada vez maior, ações de empresas americanas e imóveis nos Estados Unidos. Chegavam a adquirir grandes fazendas de criação de gado no Texas, para desconsolo dos texanos tradicionais. Eram também os principais participantes dos leilões de obrigações do Tesouro americano.
Por isso, quando Shadao Shirayshi, o venerável e octogenário presidente do grupo Shirayshi, telefonou-lhe pessoalmente, Julius viajou para Tóquio, a bordo de um dos 747-400 da Trans Atlantic. Foi recebido com honras no Aeroporto Internacional de Narita, de onde foi levado ao Hotel Imperial, situado no mesmo complexo onde ficava a sede do conglomerado Shirayshi.
Depois de um fim de semana de descanso, e recuperação das 10 horas de diferença de fuso horário, Clarence saiu, no domingo, para jantar com o senhor Shadao no Restaurante Isecho. Felizmente, Julius gostava de comida japonesa. Pôde deliciar-se com um maravilhoso kinkary, uma delicada combinação de legumes decorados e frutos do mar.
O ancião ficou satisfeito ao ver que seu convidado gostava da comida.
– Senhor Clarence – disse ele em um inglês mais do que razoável. – Soube que tem uma indústria de alimentos.
– Chama-se Vitalis, senhor Shirayshi – Julius apressou-se em esclarecer. – Há cerca de três anos, introduzimos alguns pratos japoneses em nossos cardápios. Foi um sucesso. Desde então, estamos sempre acrescentando novas variedades.
– É uma comida saudável, senhor Clarence. Já os japoneses fazem o inverso. Comem agora bacon com ovos no café da manhã e, se o senhor prestar atenção quando sair à rua aqui em Tóquio, verá que as cadeias de fast-food americana se encontram permanentemente lotadas.
Em momento algum, durante o jantar, o senhor Shirayshi referiu-se a negócios. Os dois homens conversaram sobre hábitos alimentares, falaram do programa de proteção aos rinocerontes, do clima, de generalidades.
O primeiro encontro de trabalho realizou-se na segunda-feira. Os empresários haviam agendado uma reunião, às 9h30 da manhã, na sede do conglomerado Shirayshi, no 15º andar da Imperial Tower.
Ainda um pouco desbalanceado pela diferença de fuso horário, Julius acordou muito cedo. Às 8h da manhã já terminara o café da manhã. Deu algumas voltas pela Imperial Plaza. De lá, pôde admirar a fachada da torre, revestida em cerâmica rosa, as janelas de vidro fumê, em formato de bay window. Depois, passeou pelas galerias do térreo e do subsolo. Chanel, Gucci, Guerlain, Alfred Dunhill, Christian Dior, todas as boas lojas do Ocidente ali estavam à captura dos preciosos ienes.
Às 9h15 dirigiu-se ao luxuoso saguão da Imperial Tower. Entrou no elevador Toshiba, ultra-rápido, percorrendo, em segundos, os 15 andares até a sede do conglomerado Shirayshi, um imóvel de 10 milhões de ienes por tsubo (medida equivalente a pouco mais de três metros quadrados), quase 10 vezes mais caro que a Liberty Tower, em Nova York.
O senhor Shirayshi viera de metrô para o escritório, um hábito antigo. Já presidira duas reuniões, antes da chegada do visitante. Recebeu-o calorosamente. Apresentou seus principais executivos, cada um deles se esmerando em curvar-se mais, em saudação. Depois, levou-o a conhecer as luxuosas instalações e apreciar a magnífica vista. Clarence pôde ver os jardins do Palácio Imperial, o Hibiya Park, a linha do Shinkansen (trem-bala) e a Torre de Tóquio.
Já em sua sala, o senhor Shirayshi serviu chá. Só então tratou de negócios.
Propôs uma sociedade. O grupo japonês compraria 20% da Clarence & Associados e do Banco Comercial de Manhattan. Em troca, venderia ações da Yamakawa Securities no mesmo valor. Passariam a atuar no mercado de obrigações americanas através da Associados. Explicou que a Yamakawa comandava as operações de diversos fundos de pensão japoneses, sendo os volumes de negócios muito grandes.
Julius também desejava investir no Japão, pois o iene continuava a valorizar-se diante do dólar. Fechou negócio com os japoneses.
Voltou para casa na quarta-feira. Na segunda-feira seguinte haveria um leilão de obrigações de 30 anos, um dos grandes, no valor de 8 bilhões de dólares. Seria, então, possível operar pela primeira vez para os novos e poderosos sócios.
Os dias de leilão costumavam ser agitados no open market. Os preços oscilavam, para cima e para baixo, até a hora da divulgação dos resultados. Só então tomavam um rumo definitivo. Se a média ficasse próxima da cotação máxima, significava uma boa demanda. Os preços subiam. Quando a média se aproximava da mínima, caíam. Era um sinal nítido de que a procura havia sido fraca. Os japoneses costumavam ser o fiel da balança. Quando participavam ativamente do leilão, era uma festa para o mercado. Os papéis subiam após o resultado e Wall Street se fartava de ganhar dinheiro.
Às 10h da manhã de segunda-feira havia um clima de nervosismo na plataforma de operações da Associados. Estariam atuando, pela primeira vez, para os japoneses. Era preciso que tudo funcionasse como um relógio.
Pouco depois das 10h, Yoshio Ikeda, chefe da mesa de open da Yamakawa, ligou para a Associados. Falou com Bernard, sob cuja direção eram conduzidos os negócios de obrigações. Eram 8h da noite no Japão e, como sempre quando havia leilão, Yoshio pretendia trabalhar até o fechamento do mercado de Nova York, o que equivalia a permanecer em seu posto até as 4h da manhã, hora de Tóquio.
– Senhor Davish, não? – indagou o japonês. – Pretendo fazer uma proposta de 500 milhões. Vamos olhar o mercado para definirmos a taxa, não?
Bernard ficou decepcionado. Julius, sentado à sua frente, e ouvindo na extensão, também. Embora 500 milhões fosse uma proposta alta, bem acima dos padrões normais da Associados, esperavam algo maior por parte dos japoneses em sua estréia. No mínimo, 1 bilhão.
O japonês percebeu a decepção do americano.
– Senhor Davish – continuou ele. – Na próxima meia hora, quero que o senhor compre, na bolsa, em Chicago, 50 mil contratos futuros de obrigações para junho. Sabe por quê? Porque estamos participando do leilão através de outras 15 corretoras. Vamos comprar um total de 8 bilhões. O leilão inteiro, não, senhor Davish?
Bernard Davish e Julius Clarence ficaram lívidos. Os japoneses estavam comprando todo o leilão de 30 anos. E eles sabiam dessa informação extremamente privilegiada. Os dois pensaram a mesma coisa. Atuariam somente como brokers ou poderiam comprar alguma coisa para a Associados? Poderia ser a porrada do ano. Ikeda, como se lhes adivinhasse o pensamento, concluiu:
– Senhor Davish, sugiro que compre outros 10 mil contratos para inaugurarmos nossa sociedade. Vai ser uma boa pancada, não? – O japonês Yoshio Ikeda também pertencia ao clube.
Dessa maneira, Julius Clarence veio a saber que, quando o senhor Shadao Shirayshi comprava obrigações, comprava todas elas.
CAPÍTULO 86
Horace Bowie encontrava-se ligado ao projeto do Túnel do Canal desde 1986, ano em que a primeira-ministra Margaret Thatcher e o presidente François Mitterrand anunciaram a escolha de um consórcio franco-britânico para construir e explorar a ligação ferroviária entre a Grã-Bretanha e a França. Nessa época, Bowie trabalhava no consórcio vencedor da concorrência, como escriturário, no Departamento de Seguros.
Mais tarde, a SNCF, da França, a British Rail, da Grã-Bretanha, e a SNCB, da Bélgica, formaram a sociedade Eurotunnel PLC, para construir e explorar, até o ano 2052, a passagem sob a Mancha (canal Inglês, para os britânicos). Bowie foi transferido para a nova empresa e continuou a tratar de seguros.
Em 1989, enormes perfuratrizes, tracionadas por lagartas, iniciaram as escavações, dando início à construção da obra, cujos primeiros projetos remontavam à época napoleônica. Horace fora, então, promovido. Era agora funcionário graduado do departamento.
No dia 6 de maio de 1994, quando a rainha Elizabeth II e o presidente Mitterrand participaram da viagem inaugural, Bowie já era o segundo na hierarquia do departamento de seguros. Já viajara sob o canal, bem antes da rainha e do presidente francês. Em 20 de junho de 1993, estivera a bordo do primeiro trem a trafegar, extraoficialmente, sob a Mancha, rebocado por uma locomotiva a diesel.
Graças à sua competência e dedicação, aliadas a uma honestidade inabalável e fidelidade canina à empresa, pouco menos de 10 anos após a sua contratação, recebeu a incumbência de dirigir o departamento. Assistiu emocionado ao início da operação comercial, quando o Eurostar – nome dado ao trem de alta velocidade que fazia a ligação entre a Grã-Bretanha e o continente – transportou seus primeiros passageiros. Tinha, na época, 43 anos de idade.
Antes de envolver-se com o Eurotunnel, Horace sempre trabalhara com seguros. Primeiro, como vendedor de seguros de vida. Mais tarde, como auxiliar de um corretor do Lloyd’s. Agora, podia considerar-se um homem realizado. Na Eurotunnel, nenhum seguro era feito, nenhuma apólice renovada, nenhum prêmio pago, nenhuma indenização recebida sem que fosse consultado. Nada se fazia sem seu nihil obstat.
Em seu departamento, os valores envolvidos, primeiro na construção e, agora, na operação, eram astronômicos. O empreendimento valia, ao todo, 10 bilhões de libras esterlinas. Era preciso segurar, além do túnel propriamente dito, as linhas de tráfego na Grã-Bretanha, na França e na Bélgica, as estações geradoras, as linhas de transmissão e as oficinas de reparos e manutenção.
O Eurotunnel tornara-se a grande paixão de Horace. Nem mesmo a mulher, Mathilde, e os gêmeos, Robin e John, mereciam-lhe tanta dedicação.
O corpo alto e esquelético (seus 65 quilos distribuíam-se ao longo de 1,89m) e a cabeça grande e desproporcional valiam-lhe o apelido de “Palito de Fósforo”, dado pelas secretárias. Usava lentes bifocais. Seu rosto, extremamente pálido, resultava de apenas um ou dois banhos de sol anuais, em Brighton, no verão, quando levava Mathilde e os garotos à praia.
Era um dos últimos da City que ainda teimavam em usar chapéu-coco, geralmente acompanhado de terno cinza-escuro e gravata preta. Nesta, um pregador, com as três ondas azuis e a estrela dourada do logotipo do Eurostar, testemunhava seu amor à empresa.
Conhecera Mathilde, 10 anos mais moça, quando ainda trabalhava no pregão do Lloyd’s e ela era secretária em uma sociedade corretora de ações da City. O primeiro encontro dera-se por acaso, na verdade um pequeno acidente. Sentavam-se à mesma mesa, em um restaurante popular, onde ambos almoçavam diariamente. Horace derramara um copo de leite sobre o vestido da moça. Ficara extremamente encabulado. “Não é nada”, dissera ela. Passaram a cumprimentar-se. Finalmente, a almoçar juntos.
Não sendo, nenhum dos dois, dado a aventuras, casaram-se após um breve e sossegado período de namoro. Horace pediu-lhe que parasse de trabalhar. Ela aquiesceu, satisfeita.
Viviam harmoniosamente. Mathilde dedicava-se única e exclusivamente ao lar e aos meninos. Sentia-se extremamente grata por ter um marido tão fiel, dedicado, com um emprego seguro, em um cargo tão importante.
Diariamente, Horace Bowie saía de casa, em Colindale, um subúrbio de classe média, às 7h45. Dirigia menos de dois quilômetros, até a estação do underground. Pegava o trem da Northern Line, sentido sul, até a estação de Charing Cross, quase do outro lado da cidade. Ao sair da estação, precisava caminhar apenas algumas dezenas de metros, subindo a John Adam Street até o Edifício Adelphi, um prédio em estilo georgiano, onde funciona a Eurotunnel PLC. Bowie entrava em sua sala, invariavelmente, entre 8h30 e 8h45.
Geralmente, era convidado a almoçar com representantes de companhias seguradoras. Nas poucas vezes em que comia sozinho, ia a um dos inúmeros restaurantes situados junto à estação de Charing Cross.
O expediente encerrava-se às 5h. Mas Horace se habituara a esticá-lo até as 6h30. Aproveitava essa hora e meia adicional para estudar propostas, apólices e examinar tabelas atuariais. Só então voltava para Mathilde e as crianças. Chegava em casa pouco depois das 7h30.
A rotina era imutável. Até que um imigrante se suicidou na estação de Leicester Square, exatamente na Northern Line, e Bowie viu-se às voltas com o problema de traçar um roteiro alternativo. Decidiu tomar a Bakerloo Line até a Baker Street. Lá, faria a mudança para a Metropolitan Line. Um expresso o levaria a Wembley Park, onde, finalmente, pegaria um ônibus ou um táxi – Horace não gostava de esbanjar, mas aquela era, definitivamente, uma exceção – até o estacionamento, em Colindale.
Mas, seguramente, não era seu dia de sorte. Chegando à Baker Street, subiu para a Metropolitan, que corre bem acima da Bakerloo. Um trem acabava de partir da plataforma, que formava um V com a District e a Circle Line. Olhou as horas. Certamente chegaria bem atrasado. No mínimo, 45 minutos. Decidiu ligar para Mathilde.
Foi até uma cabine telefônica.
– Estou atrasado – avisou. – Parece que houve um acidente. Não, querida. Não foi comigo. O IRA? Não, querida, não sei se foi o IRA. Só sei que houve um acidente. Em Leicester Square, parece.
Já ia deixar a cabine quando viu o pequeno anúncio fixado ao vidro. “Castigue-me severamente”, dizia. Ao lado, o desenho de uma garota jovem, muito atraente, extremamente sensual, usando salto alto, meia-calça, o busto completamente nu, luvas pretas cobrindo as mãos e parte dos braços.
A jovem encontrava-se inclinada, apoiando-se sobre um móvel baixo, o traseiro projetando-se para cima. Em cima, um telefone: 258-1437.
Sentiu-se culpado apenas por ter olhado. Deu uma espiada para fora da cabine. Não havia ninguém esperando para falar. Foi, subitamente, acometido de uma vontade irresistível de telefonar. Mas, e se a moça estivesse observando de longe? Mas que bobagem. Como ela poderia saber que ele estava interessado? Sim, interessado. No mínimo, em ouvir a voz. Apenas um pouquinho, depois desligar e ir correndo para casa. Outro trem já encostava na plataforma enviesada.
Colocou uma moeda. Dois, cinco, oito, um, quatro, três, sete. Os dedos eram senhores de si. Não obedeciam ao comando da razão. Ouviu a chamada ritmada, de dois em dois sinais.
– Alô? – a voz rouca era tão sensual quanto a gravura. Horace desligou, descolou o anúncio, preso ao vidro com goma de mascar, guardou-o no bolso, saiu da cabine e dirigiu-se rapidamente ao trem da Metropolitan.
Pouco mais tarde, durante a viagem de táxi – decidira-se por um táxi – entre Wembley Park e a estação de Colindale, memorizou o número. Já no estacionamento do underground, disfarçadamente, amassou e largou o papelote no chão. Chegou em casa sobressaltado. Certamente por causa do IRA, pensou Mathilde.
Nos dias seguintes, Bowie voltou a ligar diversas vezes para a moça. Sempre de cabines públicas. Ela atendia, ele desligava. Só duas semanas depois, armou-se de coragem para dizer alguma coisa.
– Alô? – dissera a voz rouca mais uma vez.
– Ah, desculpe... desculpe incomodar, mas eu vi o anúncio.
– Ah, então é você que telefona todos os dias. Mas por que desliga, queridinho? Não sabe o que está perdendo. Sabe onde eu estou, meu amor? Estou deitada na cama, nua, à sua espera. Por que não vem encontrar-se comigo? Vai ter uma surpresa. Mas tenho certeza de que irá gostar.
Só então Bowie percebeu. A voz rouca. Um homem. Provavelmente um travesti. Subitamente, lembrou-se da Aids. Desligou rapidamente.
Mas não conseguiu afastar a garota – para ele, estranhamente, continuava sendo uma garota – do pensamento. Passados alguns dias, certa manhã, desceu rapidamente na estação de Leicester Square, saiu à rua e comprou uma revista, cuja capa observara em outra banca, perto do trabalho. Guardou-a cuidadosamente na pasta e voltou ao underground. Só mais tarde, no fim do dia, no escritório, quando teve certeza de que não havia mais ninguém na ante-sala, examinou seu conteúdo.
Quando Horace viu os corpos jovens e lindos, os seios empinados, as nádegas redondas, as bocas carnudas, quando sentiu um terrível desejo de tocar naqueles pênis em corpos femininos, soube imediatamente que sua sorte estava lançada.
Telefonou dali mesmo para a garota do anúncio e, no dia seguinte, depois de dar uma desculpa em casa – um jantar com o presidente de uma seguradora –, foi encontrar-se, de terno e gravata, com ela, num hotel de quinta categoria, junto à estação de King’s Cross. Antes, parou em uma farmácia e comprou preservativos.
Trêmulo, seguiu as instruções que ela havia dado. Apresentou-se na recepção como senhor Jones, pagou 20 libras adiantadas ao encarregado, um sikh carrancudo, e subiu para o quarto. Conheceu, então, a coreana – ou o coreano, melhor dizendo – chamada Michele.
Uma hora depois retirou-se, enojado consigo mesmo. Deu uma volta completa na Circle Line para chegar em casa numa hora mais compatível com o jantar de negócios. Tomou um banho, sempre o fazia antes de deitar-se, e dormiu, jurando nunca mais repetir a aventura.
Mas não cumpriu o juramento. Continuou se encontrando com o coreano e com outras. Seus telefones, ele os obtinha nas cabines telefônicas.
CAPÍTULO 87
Desde sua admissão no Centro-Europeu, 30 anos antes, Clive Maugh era conhecido por seus hábitos estranhos. Sua alimentação consistia em leite e sanduíches de queijo. Complementava a dieta com uma profusão de vitaminas. Vestia seus costumeiros ternos azul-marinho, gravata da mesma cor, camisa branca.
Em seu amplo apartamento, raramente admirava a magnífica vista: na frente, os barcos fundeados no lago e um repuxo que lançava uma coluna d’água a mais de 120m; nos fundos, as montanhas, verdes nos meses quentes, brancas no inverno.
O interior assemelhava-se mais a uma biblioteca, eclética, variando de estantes repletas de clássicos a gavetas cheias de revistas pornográficas. Em uma sala especial, Maugh guardava seus discos de música clássica. Renovava constantemente a aparelhagem de som. Fazia questão de possuir o melhor e mais moderno.
Apesar de mais velho, continuava a receber prostitutas. Agora, com mais freqüência, pois dispunha de mais tempo. Já não dormia tantas vezes no Sindicato.
Efram, o proxeneta, há muito retornara a sua terra. Mas tomara o cuidado de deixar um substituto. Este, com a mesma competência do antecessor, abastecia o cliente com o que de mais exótico havia no mercado.
Süleyman, o sucessor, só cometera um erro grave. Levara, de uma feita, dois travestis ao apartamento do lago. Foram imediatamente rechaçados. A lição foi aprendida. O cliente gostava de mulheres, no mínimo duas de cada vez. Rapazolas não o interessavam, nem mesmo quando era difícil estabelecer a diferença.
Além de suas excentricidades costumeiras, Maugh adotara novos hábitos. Novos e estranhos. Não recebia ninguém, no escritório, sem antes sua secretária verificar se o visitante estava gripado. Caso estivesse, era conduzido a outros, nunca ao diretor de Operações. Evitava apertar a mão de seus interlocutores. Só o fazia quando inevitável, correndo a lavar as mãos, com álcool, tão logo se via a sós. Quanto às putas enviadas por Süleyman, Clive as observava de prudente distância, enquanto se masturbava.
Os demais diretores do Sindicato temiam que Maugh estivesse enlouquecendo. Eventualmente, dois ou três se reuniam, à socapa, cuidando de sua demissão. Bastaria o voto da maioria simples do Comitê Diretor. Os estatutos legados por René Russon eram claros a respeito.
Mas o diretor de Operações, mesmo não trabalhando tantas horas por dia como antes, garantia a maior parte dos lucros do Centro-Europeu. E as polpudas gratificações com as quais os colegas engordavam seus portfólios particulares.
Finalmente havia o cardeal Bento d’Onofrio, curador do Tesouro do Vaticano, maior cliente do Sindicato. Nos últimos anos, o prelado adquirira o hábito de conversar diariamente com Clive Maugh. Ao contrário dos outros clientes importantes, com quem o diretor de Operações mantinha um relacionamento distante e protocolar, o cardeal recebia toda a atenção. Sua Eminência retribuía o tratamento. Fazia ver a todos que o santo dinheiro da Igreja de Roma estava sob a tutela do inglês Clive Maugh, não da instituição Banco Centro-Europeu de Lausanne.
Maugh vinha obtendo algumas informações propositadamente sem o concurso de Otto Behr. Aproveitava-se das férias do chefe da Inteligência, que viajara para Maiorca, para receber, na discrição de seu próprio apartamento, o compatriota Jeffrey Rogers, detetive particular.
Rogers trazia o resultado das investigações encomendadas pelo diretor do Sindicato.
– Levou algum tempo – disse ele. – Mas consegui um bom material. Julgue o senhor mesmo. – Estendeu um envelope cinzento com as fotos de Horace Bowie.
Era uma coleção impressionante. O chefe do Departamento de Seguros da Eurotunnel aparecia em situações e poses comprometedoras. Em uma delas, uma mulher muito alta, morena, aparecia entrando no carro de Bowie. Foto tirada por profissional. Percebiam-se, nitidamente, as duas figuras. O inglês, abaixando-se e estendendo a mão para abrir a porta do outro lado do carro. De costas, preparando-se para entrar no veículo, uma morena, evidentemente uma prostituta, tão típica era a vulgar indumentária.
– Trata-se de um travesti. Não de uma mulher – explicou Rogers. – Mas não precisava. Clive examinava agora, com indisfarçável repugnância, outra foto. Nesta apareciam, deitados, completamente nus, Horace e uma oriental, ou melhor, um oriental, pois era visível o pênis, avantajado, ereto, contrastando abruptamente com o lindo par de seios, redondos, mais acima.
Maugh indagou-se como o detetive obtivera tal foto.
– O quarto foi preparado para o encontro – Jeffrey adivinhou-lhe o pensamento. – O senhor Bowie tem o hábito perigoso de ir sempre ao mesmo hotel, uma espelunca, perto da estação de King’s Cross. Havia uma câmera oculta à sua espera. Uma questão do dinheiro certo para a pessoa certa. No caso, um sikh, ávido por algumas libras extras.
O diretor do Centro-Europeu examinou cada uma das fotos, todas comprometedoras. Horace Bowie podia ser visto com diversos travestis, dentro do carro, saindo do veículo, entrando no hotel. Aparecia em sessões de masturbação a dois, beijando-os na boca, fazendo sexo oral. Clive Maugh chegou a sentir algum desejo, os prolegômenos de uma ereção. Quem sabe...? Como voyeur...
– Muito bem, senhor Rogers. Ficarei com elas. Combinamos 10 mil dólares, certo?
– Libras. Trabalho com libras, senhor. Mas, evidentemente, posso aceitar o equivalente em dólares.
Maugh foi a outro cômodo e separou os dólares correspondentes a 10 mil libras. Entregou o maço de notas ao detetive. Levou-o até a porta.
– Se for preciso, sei onde encontrá-lo. Tenha uma boa viagem de regresso, senhor Rogers.
CAPÍTULO 88
Kenneth Estevez não era apenas mais um entre os milhões de investidores americanos interessados por ações. Tratava-se de um viciado no mercado de opções.
Como dentista, sua verdadeira profissão, era muito competente. Gozava de boa clientela em seu consultório no Rockefeller Center. Hábil, extremamente cuidadoso, esmerava-se para que seus pacientes sofressem o mínimo possível. Suas próteses eram perfeitas, resultado de anos de trabalho árduo, dedicação e experiência. Sua sala de espera permanecia lotada, pois, além das consultas marcadas, havia as emergências. Estevez nunca deixava de atender a um cliente, mesmo que fosse preciso trabalhar até tarde da noite.
Devido a sua dedicação e competência, ganhava muito dinheiro. Lamentavelmente, perdia quase tudo nas opções.
Os investidores do arriscado mercado de opções podem comprar calls ou puts. Calls dão o direito de comprar ações por determinado preço. Aos proprietários de puts, reserva-se o direito de vender. Quem quer apostar na alta, compra calls. Para jogar na baixa, compra puts.
O dentista Kenneth não tinha preferências. Algumas vezes, era touro, adquiria calls. Em outras, tornava-se urso, comprava puts. Queria sempre apostar de um lado ou de outro. Ora achava que o mercado ia subir, ora estava certo de uma queda espetacular.
Fazia seus negócios no intervalo entre um cliente e outro. Depois, enquanto se inclinava sobre a boca escancarada, dividia-se entre cáries, obturações, pivôs, coroas e o mercado. Como estariam as ações das quais comprara calls ou puts?
Quando, porventura, tinha a sorte de atender a um profissional de mercado, fazia perguntas, pedia dicas, mesmo sabendo que o pobre, a boca imobilizada, encontrava-se impossibilitado de responder.
Ao final do dia, sonhava. Via-se perpetrando tacadas milionárias, sentia-se um grande trader. Imaginava-se vivendo nas Bahamas, com um escritório particular na própria casa, repleto de terminais das bolsas. Movia-se entre as telas iluminadas, o telefone à mão, passando ordens aos corretores em Nova York, Chicago, Londres, Tóquio.
No mundo real, nada disso acontecia. Era um perdedor sistemático. Quando comprava calls, o mercado caía. Quando comprava puts, antevendo um crash no mercado, a bolsa subia, para seu desalento.
Estevez assinava inúmeras publicações. Lia todos os boletins de recomendações a seu alcance. Passava horas, à noite, e durante os fins de semana, traçando gráficos, estudando balancetes das empresas. Mas, na hora de negociar as opções, era disperso. Comprava determinado call, recomendado por um analista, e, subitamente, influenciado por outro guru – existiam aos montes em Wall Street –, liquidava-o com prejuízo e comprava puts.
Felizmente, era divorciado. Já se livrara do inferno de ter de dar explicações a Emma, quando faltava dinheiro para as férias ou para a compra de um carro novo. Ela nunca o entendera. Se era tão bom dentista, como diziam, como podia ter menos dinheiro que Peter Falk, colega de profissão, morador da casa em frente, no condomínio em Nova Jersey. Falk mudava de carro anualmente e viajava constantemente à Europa. Não se esquecia de avisar os vizinhos, é claro, o exibicionista.
Depois do divórcio, Kenneth mudara-se para um pequeno apartamento na Rua 67, lado oeste, esquina com a Broadway, perto do Lincoln Center. Ao final de cada mês, após os prejuízos no mercado, mal dava conta de pagar a pensão do pequeno Bobby, de apenas 5 anos, e o aluguel.
Subitamente, as coisas melhoraram. Estevez abrira uma conta na De Ville e, no intervalo entre duas consultas, seu corretor segredara-lhe ao telefone:
– Compre calls out-of-the-money (out-of-the-money eram opções cuja possibilidade de exercício era muito remota) da Mohair. Uma empresa da Califórnia. – E baixando o tom da voz: – Nosso maior cliente, o Banco Centro-Europeu de Lausanne, está comprando esses calls. O papel vai dar uma porrada. É uma barbada. Só estou lhe falando isso por amizade. Sei que não tem dado muita sorte.
Sem esperar que o dentista, já todo excitado, perguntasse alguma coisa, apressou-se em explicar:
– A Mohair descobriu um catalisador de poluição para automóveis que dispensa o uso de platina. Vai poder ser usado em todos os estados, mesmo na Califórnia, onde os padrões são os mais exigentes.
Kenneth pôde comprar bastante, 20 mil dólares em calls. Obtivera, também intermediado pela De Ville, um empréstimo, para o qual dera em garantia os equipamentos do consultório. Enfim, chegara a hora de sua redenção, sua grande tacada.
Um mês após a compra, os calls já valiam 50 mil dólares. E a Mohair continuava subindo. Cochichava-se que iria lançar uma nova patente. Estevez piramidou para cima. Vendeu os calls comprados anteriormente e comprou outros, de exercício mais difícil ainda. Sempre por recomendação de seu corretor, seu novo guru.
– Os caras da Suíça estão investindo milhões. A porrada da década – sussurrava ao ouvido extasiado do dentista.
Dez dias antes do vencimento, as opções totalizavam 75 mil. Kenneth já estava quase satisfeito. Quando chegassem a 100 mil – o guru dizia que chegariam a 200 mil, mas não era ganancioso –, venderia todo o lote. Se desse mais umas cinco tacadas como aquela, fecharia o consultório. Compraria, então, uma passagem, só de ida, para Nassau.
De Lausanne, Clive Maugh acompanhava atentamente o desenrolar daquele pequeno negócio em Nova York. Lentamente, costurava a teia de sua armadilha para pegar Julius Clarence.
CAPÍTULO 89
Apesar de jovem – tinha apenas 28 anos –, Norman Crane era um dos mais antigos e fervorosos militantes do Partido Radical Nacionalista Saxão. Nunca deixava de comparecer às reuniões semanais. Contribuía com 20% dos seus ganhos – não era muita coisa, pois, constantemente desempregado, vivia de biscates esporádicos. Pagava sua mensalidade religiosamente.
Observava cuidadosamente os rituais da organização. Ao reunir-se com os companheiros, saudava-os estendendo a mão direita e colocando-a sobre seus ombros. Para o chefe do partido, Christopher Hawn, o tratamento era diferenciado. Norman estendia a mão para cima. Batia os calcanhares em sinal de respeito.
Conhecia, de cor e salteado, a doutrina e os mandamentos do PRNS. Os saxões radicais – como gostavam de ser chamados – organizavam um movimento para livrar as ilhas britânicas dos imigrantes, devolvendo-os às suas origens ou, se fosse necessário, eliminando-os sumariamente.
Sua infância não fora melhor que a dos pobres imigrantes, alvo de seu ódio. Não conhecera o pai. A mãe, prostituta e alcoólatra, livrara-se dele na primeira oportunidade. Vivera em orfanatos e casas de caridade. A princípio, apanhara dos colegas. Depois, tornara-se esperto. Não raro, liderava pequenas gangues, dentro das próprias instituições ou entre as ruas dos bairros pobres de Londres.
O projeto dos saxões radicais visava o longo prazo. Era preciso primeiro recrutar militantes. Faziam-no entre os arruaceiros das torcidas dos times de futebol, entre os desempregados e, principalmente, entre os grupos de neonazistas que infestavam a Grã-Bretanha.
Para pertencer ao PRNS, o candidato precisava ter as características raciais dos antigos saxões, que, conforme haviam decorado, invadiram a Inglaterra no século V. Não era exigido nenhum exame acurado. Se o pretendente fosse branco e jurasse obedecer aos mandamentos do partido, admitiam-no sem maiores formalidades.
No futuro, quando possuísse um bom número de membros, a organização planejava iniciar uma campanha de ataques terroristas. Estes seriam atribuídos aos imigrantes. Não seria difícil – pelo menos esta era a opinião do líder Hawn – levar o público a acreditar na culpa de grupos notoriamente ligados ao terrorismo. Visavam especialmente os fundamentalistas islâmicos, que estavam aterrorizando diversos países, sob o patrocínio velado do governo do Irã.
Em uma terceira fase, os radicais pretendiam eleger membros do Parlamento. Depois, formar uma maioria e, conseqüentemente, um governo. Ao final, pretendiam dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura. Expulsariam os imigrantes, e seus descendentes, e formariam a nova nação anglo-saxônia.
Norman era um dos membros que mais gozavam da confiança do chefe. Tinha pleno conhecimento de seus planos terroristas. Por isso, pressentiu algo importante, ao ser convocado para uma reunião noturna, fora de Londres, em uma sexta-feira de verão.
A cúpula do PRNS deixou a Estação Victoria, no início da tarde, e seguiu de trem para Dover. Dois carros já se encontravam reservados em uma agência de aluguel. De posse dos veículos, o pequeno grupo de militantes rumou em direção a um dos famosos penhascos brancos da região. Do alto, podiam ver as paredes rochosas, descendo abruptamente em direção às águas do canal. Era, inegavelmente, um local condizente com uma proclamação histórica.
Quando anoiteceu, 10 homens, a nata dos saxões radicais, ouviram seu líder máximo, Christopher Hawn, anunciar-lhes que, em breve, teriam início os primeiros atos de terrorismo.
– Haverá algumas baixas. São inevitáveis em qualquer movimento revolucionário. Mas, caso um de nós seja escolhido para derramar seu sangue pelo renascimento da nação anglo-saxônia, seu nome permanecerá, para sempre, imortalizado no panteão de heróis que haveremos de erigir em memória de nossos mais bravos guerreiros.
Uma lua prateada refletia-se nas águas do canal. Um vento leste, frio apesar do verão, soprava em direção à velha Albion. Norman respirou fundo. Seus dedos crisparam-se. Os olhos se umedeceram. Fosse ele o escolhido, não desapontaria seus camaradas em armas.
No dia seguinte, sábado, Christopher Hawn esperou, pacientemente, durante 40 minutos, à porta do Dino’s, um restaurante italiano localizado no prédio da estação de underground de South Kensington.
Finalmente, um táxi parou junto ao meio-fio. Um homem de óculos escuros desceu do carro, olhou a seu redor e, só então, dirigiu-se a Hawn. Entregou-lhe um pacote contendo 50 mil libras e mandou, em inglês sofrível, que aguardasse novas instruções.
O estrangeiro demorou menos de 20 segundos ao lado de Hawn. Feita a entrega, desapareceu dentro da estação do underground. Dirigiu-se à plataforma da linha Picadilly, direção oeste. Pegou o trem para Heathrow. Antes de viajar para seu destino, deu um rápido telefonema para Clive Maugh, em Lausanne.
O diretor de Operações do Centro-Europeu estivera esperando, ansiosamente, o telefonema. Exultou. Os fatos sucediam-se exatamente como planejara. Mais tarde, quando não houvesse mais retorno, aproveitar-se-ia do fait accompli e exigiria a colaboração de Otto Behr.
CAPÍTULO 90
Mais uma vez, os calls da Mohair fecharam em alta. A posição de Kenneth Estevez valia agora 98 mil dólares. Ele decidira liquidar a parada. Venderia, no dia seguinte, logo após a abertura, toda a posição, mesmo se James Crowe, seu corretor na De Ville, fosse contra. Esperaria apenas uma pequena alta, que certamente ocorreria, tal a força com que o mercado havia fechado.
Pela primeira vez na vida, Kenneth dera uma verdadeira tacada. Das grandes. Transformara 20 mil dólares em 100 mil. Antes de dormir, mirou-se demoradamente no espelho. Não viu um prosaico dentista. Viu um trader, um mago das opções. Fez uma cara inteligente. Semicerrou os olhos, maquiavélico. Sorriu misteriosamente. Um trader profissional...
No dia seguinte, acordou bem cedo. Fez 40 minutos de jogging no Central Park. Tomou um café da manhã à base de frutas e iogurte, precisava conter a silhueta. Desceu para a Broadway, pensando em ir de táxi para o consultório. Mas o trânsito já se encontrava engarrafado àquela hora da manhã, embora fosse verão e boa parte dos moradores estivesse fora da cidade. Decidiu-se pelo metrô. Felizmente, nas Bahamas, nunca mais se defrontaria com a necessidade, menor, proletária, de ter de, diariamente, pegar uma condução para o trabalho. Em casa... passeando entre os terminais.
Entrou na estação de metrô da 66, comprou um bilhete e desceu à plataforma. Pegou o Broadway Local até Columbus Circle, percurso de apenas uma estação. Rapidamente, transferiu-se para o Expresso da 6ª Avenida. Duas estações depois, emergia no burburinho matinal da 5ª Avenida.
O mago das opções desdenhou o cenário radiante da Rockefeller Plaza, as bandeiras coloridas, pessoas bonitas sentadas nos cafés e seguiu para seu prédio. No consultório, no 30º andar, já encontrou Dana, secretária e enfermeira, esterilizando o instrumental. Na sala de espera, a senhora Tuchner, primeira paciente do dia, aguardava, folheando uma revista especializada no mercado de ações.
Oito e meia da manhã. Atenderia as duas primeiras consultas e, no intervalo entre a segunda e a terceira, telefonaria para Crowe. Mandaria vender toda a posição por 100 mil dólares. Subitamente, lembrou-se: números redondos davam azar: 99 mil estava ótimo. Um profissional...
Após a terceira consulta, voltaria a ligar para o corretor. Receberia sua confirmação de venda – fill, diziam os profissionais. Receberia seu fill e, depois, com calma, esperaria, tal como um predador na savana africana, a oportunidade de mais um bote mortal.
A primeira consulta transcorreu normalmente. O dentista trabalhou um pouco mais rápido do que costumava. Mas o fez com perfeição. Aplicou anestesia e obturou um canino da senhora Tuchner. Terminou às 8h55.
Antes de fazer entrar o segundo paciente, senhor di Leo, examinou sua ficha. Droga! Obturação do canal em um molar superior. Um trabalho demorado. Seria preciso inserir cimento nas cavidades alongadas das raízes, com extremo cuidado. Qualquer umidade residual arruinaria o serviço. Essas obturações costumavam demorar mais do que a meia hora habitual de consulta. O mercado já teria aberto – refletiu contrariado. Ficaria impossibilitado de fazer o que planejara: passar a ordem à De Ville antes da abertura. Não podia fazê-lo agora, porque Crowe só chegava à corretora em cima da hora.
Fez o paciente sentar-se. Examinou sua boca. Resolveu mentir.
– Senhor di Leo – disse, sentindo uma ponta de remorso. – O dente ainda não está pronto para a obturação final. Será preciso uma última limada no canal. Mas, na próxima semana, prometo, concluirei seu molar. Gosta do mercado de ações, senhor di Leo?
Antes que o cliente pudesse esboçar uma resposta, enfiou-lhe um instrumento goela adentro. Precisava tirar a massa e abrir o campo para trabalhar com a agulha. Debruçou-se sobre o trabalho e, em 20 minutos, liberou o paciente. Às 9h26, quatro minutos antes da abertura, Kenneth Estevez telefonou ao corretor.
– Anote uma ordem – disse, secamente, esmerando-se no tom de comando para que Crowe não argumentasse. – Venda 10 mil calls da Mohair, strike 50, a 9,90. – Disse-o como se possuísse dezenas de posições e não somente aquela. Desligou o telefone e mandou entrar a senhora Stowe, coroa de jaqueta no incisivo lateral.
Eram 2h28 da tarde em Lausanne quando Clive Maugh recebeu a ligação de James Crowe.
– O dentista mandou vender as 10 mil, strike 50, a 9,90 – disse o corretor.
Maugh agiu rápido.
– Venda, na abertura, 100 mil Mohair, no mercado à vista, a mercado.
Pouco mais tarde, recebeu o fill. Mandou vender mais 100 mil; depois, outras 100 mil.
Na primeira meia hora de pregão, Clive vendeu 500 mil ações, fazendo com que a Mohair despencasse de 57 dólares, preço de fechamento da véspera, para 49. O call, strike 50, desabou para 4 dólares, menos da metade do valor pretendido por Estevez.
O mago das opções – não, agora voltava a ser um simples dentista – cometeu o derradeiro erro. No intervalo entre a senhora Stowe e Jonathan McEntire, extração de um siso, desolado pela derrocada de seus papéis, solicitou e obteve – sempre por telefone – um financiamento extra de 20 mil dólares. Comprou mais 5 mil calls do strike 50 por 4 dólares.
Clive Maugh continuou vendendo. Ao final do dia, a Mohair caíra para 44 dólares.
Ao longo da semana, o inglês continuou derrubando o papel. Na sexta-feira, as opções de Kenneth Estevez valiam, no total, apenas algumas centenas de dólares.
Desta vez, fora longe demais. Perdera suas ferramentas de trabalho.
CAPÍTULO 91
Julius Clarence foi surpreendido pela morte súbita de Sadao Shirayshi. Voou para Tóquio. Depois dos funerais, ainda permaneceu alguns dias no Japão, tratando de novos investimentos. Acreditava que o iene continuaria subindo frente ao dólar. Pretendia tirar proveito dessa valorização. Do Japão, seguiu para a China, antecipando uma viagem marcada antes da morte de Shirayshi. Planejava permanecer algum tempo no país.
No final do século, bilhões de dólares vinham sendo transferidos, anualmente, dos Estados Unidos para a China, atraídos pela mão-de-obra barata. Produtos chineses inundavam o mercado americano. Na opinião de Julius, esse movimento perduraria por muito tempo. Por isso, pretendia estabelecer sólidas raízes entre eles. Mas era um país difícil. Nada se podia fazer sem autorização do governo. A burocracia era infernal.
Clarence interessara-se particularmente pelas terras férteis do Leste da China, onde pretendia investir em agricultura, fazendo uso de alta tecnologia. Levou semanas negociando com o governo, antes de assinar o contrato. Finalmente, deu início ao projeto Davenport. Transferiu 200 milhões de dólares para a China.
Kenneth Estevez passou um fim de semana de cão. Mesmo assim, levou Bobby ao zoológico do Central Park e ao Cirque du Soleil. Os ingressos haviam sido obtidos com dificuldade. A lotação do circo era permanentemente vendida com muita antecedência, e ele não podia desapontar o filho por causa das opções. Mas não pôde curtir o menino, muito menos o espetáculo.
Na segunda-feira, mal chegou ao consultório, o telefone soou. Em lugar de sua habitual voz compungida, quando falava com clientes perdedores, James Crowe foi direto:
– É preciso que venha à corretora ainda hoje. A conta está negativa, doutor Estevez. Posso esperar, ah... digamos, até as 3h.
Kenneth mandou Dana desmarcar os clientes da parte da tarde. Fez das tripas coração para executar o trabalho da manhã. Às 2h, entrou na sede da De Ville, em Downtown. Foi levado a uma sala. Pouco depois, Crowe apareceu. Fulminou:
– Teoricamente, o senhor deve 38.500 dólares, doutor Estevez. Mas precisamos ser realistas. Suas opções vão virar pó. É melhor considerar essa hipótese desde já e nos pagar logo 40 mil.
O dentista custou a responder. Fazia enorme força para não chorar. Seus esfíncteres afrouxavam-se. Suava frio para contê-los.
– Não tenho esse dinheiro – balbuciou. – Posso vender meus equipamentos, meu carro, algumas coisas. Mas não tenho certeza se vou poder levantar tudo isso. Mesmo assim, leva tempo. – Fizera algumas contas no fim de semana. Somara um saldo aqui, outro ali. – Posso lhe pagar 2.500. É tudo que tenho – concluiu, a voz embargada, os olhos lacrimejantes.
O corretor sabia que o cliente não tinha o dinheiro. Sabia muito mais. Sabia que a lei equiparava o mercado de opções aos jogos dos cassinos. Portanto, nenhum juiz obrigaria o senhor Kenneth Estevez a vender seu instrumental de trabalho, do qual tirava seu sustento, e do filho pequeno, para pagar uma dívida de jogo. Finalmente, sabia que o poderoso diretor de Operações do Banco Centro-Europeu de Lausanne, o Sindicato, dispunha-se a responsabilizar-se pelo débito do dentista. Mesmo assim, seguiu adiante com seu teatro.
– Por favor, me aguarde, senhor Estevez. Verei o que posso fazer. – Saiu da sala. – Essas opções... – murmurou, displicente.
Voltou meia hora depois.
– Meu querido Kenneth, é um homem de muita sorte. Estive falando de seu caso com nossos clientes suíços. Querem conversar com você a respeito do mercado de opções. Mas não aqui. Lá na Suíça, em Lausanne. Ah! Já ia me esquecendo. Seu débito fica suspenso por enquanto. Sugiro que vá o quanto antes. Se aguardar mais meia hora, receberá a passagem aérea. Pode aproveitar o tempo para desmarcar seus pacientes. Quanto mais cedo, melhor, Kenneth. Quanto mais cedo, melhor.
O dentista fez as coisas maquinalmente. Não pensou na falta de lógica de um banqueiro suíço interessar-se por um especulador estrangeiro desastrado. Não pensou em nada. Se só havia aquela saída, era para lá que tinha de ir. Ligou para Dana e desmarcou todas as consultas da semana.
Clive Maugh não precisou de muito tempo para aliciá-lo. Estevez passaria a operar, em sua conta pessoal, para o Banco Centro-Europeu. Seria um testa-de-ferro dos suíços. Desde que cumprisse as ordens de Lausanne, não precisava preocupar-se com o débito na De Ville. Deveria continuar com suas consultas e seus clientes. No momento certo, Maugh lhe diria onde operar, o que comprar, que lote e por quanto. Mas era importante que obedecesse. Caso contrário, o Sindicato saberia cobrar suas dívidas.
Clive Maugh fez uso de um argumento convincente, que aprendera com Otto Behr. Exibiu a Kenneth Estevez uma fotografia do pequeno Bobby, sentado ao lado do pai, na arquibancada do Cirque du Soleil, em Nova York. Por trás do menino, um homem mantinha o paletó entreaberto. Abaixo da axila esquerda via-se nitidamente uma pistola automática. Exatamente igual à que Estevez usara, muito tempo atrás, quando servira como dentista no exército do general Norman Schwarzkopf por ocasião da invasão e retomada do Kuwait.
Desde que cumprisse as ordens...
CAPÍTULO 92
Kenneth Estevez voltou a Nova York, a seu consultório e a seus clientes. Desinteressou-se totalmente pelo mercado. De Clive Maugh e do Sindicato, nenhuma notícia. Finalmente, quase um mês após seu retorno de Lausanne, quando já reassumira a sua rotina normal de trabalho, recebeu a primeira ligação do Centro-Europeu.
– Vá até a Clarence & Associados, no 79º andar da Liberty Tower – ordenou Maugh. – Se cadastre como cliente. Dê a De Ville como referência. Informe que seu saldo lá é de 100 mil. Deixe o resto comigo. Volto a telefonar-lhe nos próximos dias. Passe bem, doutor Estevez.
O dentista fez o que lhe foi mandado. Dias depois, recebeu, pelo correio, um extrato de conta da Associados, com um saldo inicial de 100 mil dólares. Na véspera, recebera algumas notas de operações da De Ville, discriminando uma série de compras e vendas de ações, nas quais lucrara a mesma importância, 100 mil. Percebeu, imediatamente, que a De Ville esquentara dinheiro para ele, permitindo que operasse na Associados.
Mais uma semana de silêncio e Maugh retornou. Desta vez, com a primeira ordem.
– Mande a Associados comprar, na Bolsa de Londres, 10 mil ações da Commonwealth Constructions a 10 dólares. Dê a ordem GTC (ordens GTC, good till cancelled, valiam até que fossem executadas ou canceladas).
Na Associados, ninguém conhecia a Commonwealth. Consultaram a lista de ações negociáveis em Londres. A empresa estava lá. Pouquíssimo negociada, sua última cotação fora 9,80. Mas o cliente tinha saldo e a ordem era específica. Retransmitiram-na para Londres.
Foi preciso uma semana para que as 10 mil ações fossem compradas. Diariamente, o dentista recebia um fill parcial, passado por Dennis Sheen, operador júnior de clientes da Associados, responsável pela nova conta.
Mal Estevez completou seu lote, as ações começaram a subir: 11 dólares, 12, 13. Uma semana depois da última compra, já estavam em 15. Sheen ligou para o cliente.
– Tem acompanhado a Commonwealth, doutor Estevez? Fechou hoje a 15. Cinqüenta por cento em uma semana. O senhor não gostaria de realizar parte do lucro?
– Não, obrigado – respondeu secamente o dentista.
“Tem alguma coisa escondida”, pensou o operador. Comprou mil ações para sua própria conta. Pagou 16. Em três dias, o papel pulou para 20.
Dennis apenas começava na profissão. Tinha poucos clientes, fornecidos pela própria Associados. Não resistiu. Recomendou a ação. Alguns compraram. A Commonwealth avançou para 25.
Vinte e cinco dólares! O doutor Kenneth Estevez ganhara 150% em pouco mais de duas semanas e agia como se fosse normal. A essa altura, outros operadores da Associados também haviam comprado o papel. As coisas estavam calmas, com Julius Clarence há tanto tempo na China. Mas nenhum deles investiu muito. Não seria possível. O mercado da Constructions era muito estreito.
Em Londres, Robert Douglas, diretor da Commonwealth, preocupava-se ao extremo. Ordens de compra de suas ações vinham surgindo de Nova York, especialmente da Clarence & Associados. “Alguém poderia estar sabendo de alguma coisa”, afligia-se.
Razões para preocupar-se não faltavam. A Constructions conduzia, sigilosamente, uma sofisticada operação de transferência e lavagem de dinheiro.
A China arrendara o território de Hong Kong aos ingleses por 99 anos. O arrendamento expiraria em breve. Para transferir, disfarçadamente, parte da fortuna que abarrotava os cofres públicos, antes que os chineses assumissem, o último governo inglês da cidade contratara, com a Commonwealth, obras de modernização do porto de Victoria, um dos maiores do mundo. As obras haviam sido contratadas por um preço altíssimo. Graças a esse estratagema, boa parte das reservas do território voaria para a Inglaterra.
Mas o governo de Hong Kong não sabia do mais importante. A Constructions planejava aproveitar-se da enorme movimentação de recursos, gerada pelas obras do porto, para fazer uma gigantesca operação de lavagem de dinheiro. Transferiria para Londres o lucro gerado, durante anos, pelo narcotráfico e pela prostituição. Os barões da droga e do lenocínio planejavam retirar-se, levando consigo o capital do negócio, antes de os chineses assumirem o território.
De Lausanne, Clive Maugh acompanhava, com grande satisfação, a alta da Commonwealth na Bolsa de Londres, pela qual a Clarence & Associados era uma das principais responsáveis. Enquanto assistia ao movimento, preparava, em segredo, uma denúncia. No momento oportuno, faria com que caísse, por vias anônimas, na mão da imprensa.
Em sua acusação, Maugh comparava os preços das obras de modernização do porto de Victoria com outros semelhantes. E demonstrava que os chefões da droga e da prostituição de Hong Kong haviam adquirido, através de alguns testas-de-ferro, o controle acionário da Commonwealth, vencedora da concorrência das obras do porto.
Ocorreria um grande escândalo. Maugh tinha certeza disso. Todos acreditariam no envolvimento de Julius Clarence, pois sua empresa em Nova York comprava sem cessar ações da Constructions. Mas era preciso mais que isso. Julius Clarence teria de saber que ele, Clive Maugh, fora o responsável. Queria provocá-lo. Só então teria condições de atraí-lo para um combate singular, direto, mortal.
Julius Clarence encontrava-se à mesa do restaurante do Hotel Mandarim Oriental, no distrito central de Hong Kong, à hora do café da manhã. Comia satisfeito e descansado. Voara, na véspera, de Pequim. Chegara ao elegantíssimo hotel à noite. Dormira por quase 10 horas.
Após o desjejum, pretendia dar uma volta pela cidade. No final da tarde, voaria para casa.
Subitamente, viu seu nome e sua foto ocupando boa parte da primeira página do jornal que outro hóspede lia algumas mesas adiante da sua. Mas, devido à distância, não pôde ler o texto.
Que a imprensa noticiasse sua presença na cidade era perfeitamente normal. Seu nome comumente aparecia nos jornais, em todos os lugares. Mas tamanho destaque... foto e nome na primeira página... E, no entanto, estava lá. Algo de importante acontecera, no qual estava envolvido. E simplesmente ignorava.
Conseguiu divisar o nome do jornal. Chamou um garçom. Minutos depois, lia a reportagem do South China Tribune. O jornal o acusava de tirar vantagem de uma operação de lavagem de dinheiro. Citava uma empresa, Commonwealth Constructions, da qual nunca ouvira falar.
Só percebeu que tinha problemas sérios quando chegou ao saguão do hotel. Uma multidão de repórteres o aguardava.
CAPÍTULO 93
Julius atravessara inúmeras fases críticas em sua vida. O início da Associados, as duas crises das Lojas Bars, a primeira provocada pelo guru Vincent Cotten, a segunda pela descoberta de seu romance com Jessica. Convivera com o alcoolismo de Francine, sofrera a perseguição do senador Olen e do imposto de renda. Por pouco, não falira por causa da Andromeda. Tornara-se um homem extremamente calejado. Mas, depois da morte de Jessica, perdera seus últimos resquícios de medo.
Suas empresas formavam agora um gigantesco conglomerado multinacional, ao qual recentemente, adicionara a Vitalis e a Trans Atlantic. Associara-se aos japoneses. Iniciava um vultoso projeto de agricultura na China. Movimentava bilhões.
Gostava de criar empregos, gerar coisas produtivas, cultivar e produzir alimentos. Mas não se contentava com negócios lucrativos. Colecionava obras de arte, patrocinava diversas fundações filantrópicas, colaborava com a proteção da fauna e do meio ambiente.
Apesar de aumentar constantemente sua fortuna, não tinha mais receio de perdê-la. O dinheiro tornara-se um detalhe, de somenos importância, na vida de Julius Clarence.
Mesmo assim, não se encontrava preparado para a avalanche de notícias ruins que surgiram, aos borbotões, de todos os lados, principiando ali, em Hong Kong, naquela manhã, tão logo deixou a mesa do café da manhã do Mandarim Oriental.
Cometeu, logo de início, um erro, ao informar aos repórteres aglomerados no saguão do hotel, sem antes consultar Nova York, que sua corretora jamais comprara uma ação sequer da Commonwealth Constructions.
A imprensa logo obteve os registros oficiais das operações. Estes revelaram que a Clarence & Associados vinha comprando aqueles papéis desde 16 dólares, não só para clientes como também para a maioria dos operadores da mesa.
As coisas tornaram-se piores quando Bernard Davish declarou em Nova York que seus operadores pouco sabiam sobre a Commonwealth. Cometeu a extrema infantilidade de dizer aos repórteres que o pessoal da mesa se limitara a seguir os passos de um dentista. A imprensa, já agora toda ela interessada, apurou que o dentista era um perdedor nato. Perdera até a mulher, por causa do mercado de opções.
A Associados tornou-se objeto de mofa e de insinuações graves. “Então, nada sabiam sobre lavagem de dinheiro.” “Seus operadores eram instruídos por um dentista.”
O escândalo adquiriu proporções inesperadas. O governo da China, com o qual Julius despendera tanto tempo negociando o projeto Davenport, exigiu explicações sobre seu envolvimento com a Constructions.
Foi obrigado a voltar a Pequim. Conseguiu convencer os chineses de sua inocência. Mas precisou amolecê-los. Dobrou seu investimento em agricultura de 200 para 400 milhões de dólares.
Foi apenas o começo de uma série de infortúnios. Tornara-se sócio dos japoneses e dos chineses na hora errada. Uma guerra comercial, há muito ensaiada, irrompeu entre americanos, de um lado, e os dois países orientais, de outro. Por pressão do Congresso, o governo americano taxou os produtos do Japão e da China, alegando práticas comerciais injustas. O grupo Shirayshi foi dos mais afetados. Sua principal fonte de renda consistia em exportações para o mercado americano.
A China retaliou contra os Estados Unidos, suspendendo importações. O projeto de agricultura, ao qual tanto Julius se dedicara, foi relegado a segundo plano. O dinheiro já investido foi bloqueado, à espera de uma decisão dos burocratas.
A situação de Clarence chegava a ser irônica, não fosse dramática. Nos Estados Unidos, suas empresas passaram a sofrer boicotes, porque era sócio de japoneses e chineses. Na China e no Japão, era visto com maus olhos por ser americano. Investira demais nos dois países. Ficou vulnerável, como nos velhos tempos. Só que, a essa altura, os companheiros de outras batalhas mais pareciam burocratas prestes a se aposentar.
Alan Payne agora permanecia mais tempo em Marathon, nas Keys, do que em Ridgefield. Via com maus olhos cada nova investida de Clarence. Bernard Davish ainda comparecia à mesa todos os dias e secundava Clarence nas outras empresas. Mas pensava seriamente em aposentar-se. Tampouco se interessava pelos novos, e cada vez mais distantes, projetos do grupo.
Julius decidiu tudo sozinho. Comprou de volta a parte dos japoneses na Clarence & Associados. Em contrapartida, liquidou sua participação no grupo Shirayshi. Seu conglomerado e o grupo japonês haviam sofrido pesadas perdas com a guerra comercial e o escândalo da Commonwealth. Para agravar, o iene sofrera forte desvalorização frente ao dólar, contrariando suas previsões.
Fez também novo acordo com os chineses. Vendeu-lhes seu projeto de agricultura, mas foi obrigado a manter o dinheiro, resultante da venda, na própria China. Investiu os 400 milhões de dólares em obrigações chinesas.
Com a aventura oriental, somada ao ridículo episódio da Constructions, Julius perdera uma fortuna. Em outras épocas, teria respirado fundo, como sempre o fizera, e mergulhado na tarefa da recuperação. Mas, agora, não via muito sentido em lutar. Mesmo com os prejuízos no Japão e na China, continuava um homem riquíssimo, um dos mais bem-sucedidos da América.
Não, dessa vez Julius Clarence iria simplesmente aceitar os prejuízos e refrear novos impulsos. Chegara a seu tamanho ideal. Por que pensar em vôos mais altos se os próprios companheiros já achavam que tinham ido longe demais?
O dentista Kenneth Estevez preparava-se para examinar a boca de uma cliente, quando Dana o interrompeu.
– Desculpe, doutor Estevez. Mas o senhor Maugh, da Suíça, insiste em falar-lhe imediatamente.
Kenneth pensou em não atender, mas desistiu imediatamente.
– Perdão, senhora Schumacher – disse contrariado. – Deve ser coisa urgente. Um instante só, por favor. Não demoro.
Dirigiu-se à sala ao lado, onde mantinha um pequeno escritório. Pegou o telefone com medo, como sempre acontecia quando falava com o Sindicato. Logo agora que as coisas estavam voltando ao normal...
– Serei rápido, doutor – disse o inglês, rispidamente. – Vou passar-lhe algumas instruções. Caso as cumpra corretamente, seu débito na De Ville será liquidado e seus problemas estarão resolvidos.
– Estou ouvindo, senhor Maugh. – Kenneth continuava temeroso, apesar da promessa.
– Pois bem, doutor. Lembra-se de sua conta na Clarence & Associados? O senhor não a movimentou mais, não é mesmo?
– Nunca mais, senhor Maugh. Continuo recebendo os extratos. As 10 mil ações da Commonwealth Constructions ainda estão custodiadas lá.
– Ótimo, doutor Estevez. Quero que o senhor mande vender as ações amanhã por 5 dólares cada uma. Vai haver um comprador por esse preço. Está me acompanhando, doutor?
– Sim, senhor Maugh – respondeu, ainda com medo. – Mando vender as ações por 5 dólares.
– Certo. Ficará com um crédito de 50 mil dólares. Um pouco menos, devido à corretagem. Agora, preste bem atenção. Depois de amanhã, o senhor deverá ir à corretora, pegar o cheque no valor da venda e doá-lo à Fundação Jessica Clarence, do Quênia. Pode fazer isso lá mesmo.
Kenneth anotava tudo.
– Peça o recibo da doação em nome do Banco Centro-Europeu. Mande-o para mim, pelo correio, e esqueça seu débito com a De Ville.
– Obrigado, senhor Maugh. – Kenneth agora estava aliviado.
– Uma última coisa, doutor. Um conselho profissional. Esqueça o mercado de opções.
Julius Clarence soube imediatamente.
O dentista, que tantos problemas lhe causara, vendera as malditas ações da Commonwealth. Doara o produto da venda, quase 50 mil dólares, a seus rinocerontes. Pedira o recibo em nome do Centro-Europeu, o Sindicato.
Quando Clarence ligou para Gilda Harris, do Departamento Técnico, já pressentia todas as respostas.
– Gilda, tem havido muitos negócios com a Constructions? Aquela... isso mesmo!
– É registrada na Bolsa de Londres. Deixe-me verificar no terminal. Negocia raramente, Julius. Mas ontem foram negociadas 10 mil. Ei! Fomos nós que vendemos.
Julius fez questão de ir até o fim.
– E quem comprou, Gilda?
– O Banco Centro-Europeu de Lausanne. Engraçado. Eles quase nunca operam no próprio nome. Costumam usar a De Ville.
Julius poderia fazer uma denúncia às autoridades. Manipulação de mercado, informação privilegiada, lavagem de dinheiro. Mas nem cogitou disso.
Com mais determinação do que quando vendera a soja dos irlandeses de Davenport, arriscara tudo no trigo em Chicago, seguindo os russos e a Landmark, comprara a Associados, o Comercial de Manhattan, as Lojas Bars, a Andromeda, a Vitalis, a Trans Atlantic, com uma vontade que nunca sentira antes, topou a parada.
A partir de agora, seguiria os passos de Clive Maugh até o inferno.
Em Lausanne, Clive Maugh, como um pescador que sentisse a primeira e tênue vibração na linha junto à ponta do polegar, soube que o peixe grande mordera a isca.
CAPÍTULO 94
Desde o século XIV, quando mercadores de Veneza, Florença e Gênova criaram os primeiros negócios futuros de bens e moedas, de tempos em tempos, os mercados eram assolados por grandes febres especulativas.
O primeiro desses surtos cíclicos ocorreu na década de 1630, quando toda a população da Holanda dedicou-se a especular com... tulipas. Tulipas! Em 1636, um único bulbo de tulipa chegou a valer o equivalente a uma carruagem, devidamente acompanhada de sua parelha de cavalos. Diversas bolsas de valores foram instituídas para negociar bulbos e tulipas. No auge da especulação, um exemplar mais raro chegou a trocar de mãos por 3 mil florins, correspondentes, hoje, a mais de 20 mil dólares.
O desastre veio em 1637. A fúria especulativa transformou-se em pânico quando, subitamente, os homens se deram conta de que eram apenas... tulipas!
Menos de 100 anos depois, mais precisamente na década de 1710, agora tendo Paris como cenário, um escocês, de nome John Law, para uns gênio das finanças, para outros espertalhão, falsário e, até mesmo, assassino – batera-se em duelo, de maneira não muito leal, em Londres, em 1694 –, estabeleceu a Compagnie d’Occident. Esta foi agraciada pela coroa francesa com os direitos de exploração de ouro no território da Louisiana, na época pertencente à França.
Law ofertou ações da nova companhia ao público. A aceitação foi fantástica, embora não houvesse nenhum indício da existência de ouro na Louisiana. Uma investigação mais apurada mostraria que a Compagnie d’Occident nem mesmo chegou a iniciar uma prospecção. Mas isso era um detalhe irrelevante para os especuladores parisienses. Lançaram-se ávidos à compra e venda dos novos papéis, no velho mercado de valores da Rue Quincampoix.
Em 1720, o mercado vacilou. Um príncipe, De Conti, suscitara algumas dúvidas sobre a existência daquele ouro. John Law respondeu aos rumores contratando centenas de mendigos nas ruas de Paris. Equipou-os de pás e picaretas. Fê-los marchar pela cidade, como se se dirigissem à Louisiana. Mas, quando, algumas semanas depois, os especuladores viram os pedintes de volta, em seus pontos tradicionais, perderam as esperanças. O mercado desabou, lançando na miséria milhares de investidores.
Enquanto em Paris as pessoas se lançavam em busca da fortuna fácil, em Londres, não se fazia por menos. A South Sea Company, fundada por Robert Harley, conde de Oxford, vendia ações ao público, acenando-lhe com a possibilidade de lucros gigantescos, a serem obtidos na exploração das riquezas da costa ocidental da América do Sul. Relegava-se a um segundo plano o fato de que a Coroa de Espanha, soberana das terras em questão, autorizara a South Company a fazer uma única viagem anual à região.
A febre tomou conta dos investidores ingleses. Entre janeiro de 1720 e o final do verão daquele ano, quando sobreveio o crash, as ações da South Company pularam de 128 libras para mil.
Na América, já no século XX, antes do colapso da bolsa, em 1929, quando caiu por terra o sonho de uma sociedade em que todos seriam ricos, outro episódio de especulação coletiva ocorrera pouco antes.
Entre 1924 e 1926, especuladores de todo o país voltaram-se para o boom imobiliário da Flórida. Os preços dos terrenos, que podiam ser comprados com entradas módicas de até 10%, não raro triplicavam ou quadruplicavam em poucos meses, para regozijo dos investidores.
O fluxo de dinheiro começou a diminuir em 1926. Ocorreu, então, a queda. Mas os jogadores não tiveram muito tempo para chorar, pois, nos anos seguintes, a jogatina vo1tou-se para o mercado de ações. Até a terça-feira negra, dia 29 de outubro de 1929, quando, em poucas horas, todos os sonhos vieram abaixo.
Mas nenhum movimento especulativo foi tão intenso quanto o que ocorria na virada do segundo para o terceiro milênio. De uma maneira ou de outra, todos se envolviam com o gigantesco mercado eletrônico. Era possível negociar ações, opções de ações, obrigações dos países, junk bonds e títulos de dívida em qualquer quantidade, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite. O mercado só parava no final da tarde de sexta-feira, hora da Costa Leste americana, voltando a funcionar na segunda-feira pela manhã, hora do Extremo Oriente.
O cenário era extremamente favorável. Os países reuniam-se em mercados comuns, abriam suas fronteiras econômicas e liberalizavam, cada vez mais, a entrada e saída de divisas. O capital deixara de ter pátria. Mais uma vez falava-se em “uma sociedade em que todos serão ricos”.
O novo sistema pertencia a quase todos os países, o que valia dizer: não pertencia a nenhum. Pairava acima das leis. O mercado eletrônico regulava a si próprio. Tanto participavam os tradicionais investidores americanos, europeus e japoneses como centenas de milhões de chineses, a nova burguesia russa, os onipresentes homens do petróleo e a emergente classe média do Leste da Europa e do Terceiro Mundo.
Todos os cidadãos idôneos podiam participar. O acesso era garantido por um cartão magnético. Qualquer homem comum, ou dona-de-casa, podia, a qualquer hora do dia ou da noite, comprar ou vender ações e opções. Bastava dirigir-se a uma cabine da rede eletrônica Non stop trading counter. Havia milhares delas nas grandes metrópoles. Os investidores podiam acessar o mercado e fazer seu investimento ou especulação, por menor que fosse. Os mais fanáticos, de um lado ou de outro, podiam dispor de cartões com a figura do touro ou do urso.
Defesas eletrônicas impediam que as pessoas operassem em quantidade superior a seu saldo ou crédito bancário.
As cotações podiam ser analisadas nos painéis espalhados em locais públicos, nos canais de TV a cabo e nos pequenos terminais, pouco maiores que uma caixa de fósforo, que os especuladores carregavam no bolso ou prendiam ao pulso como relógios.
O novo sistema tanto processava uma ordem de 100 milhões de dólares de um grande fundo de pensão como aceitava uma especulação de 10 dólares no mercado de opções, pecadilho de uma bucólica velhinha do interior de Wyoming. O mercado eletrônico de ações e de opções era, ao final da última década do segundo milênio, o retrato fiel da vitória final e inconteste do capitalismo.
CAPÍTULO 95
Após o prejuízo no Extremo Oriente, Julius dedicou a maior parte de seu tempo ao mercado eletrônico. Elegera-o como local mais adequado à recuperação daquelas perdas e ideal para o confronto decisivo com Clive Maugh.
Logo após o escândalo da Commonwealth Constructions, Alan Payne anunciara sua decisão de aposentar-se. Clarence pedira-lhe uma última missão. Seguir os passos de Maugh. Os homens destacados por Ridgefield para cobrir o diretor do Sindicato logo descobriram seus hábitos estranhos. Observaram que recebia prostitutas em seu apartamento. Registraram sua predileção por música, literatura e pornografia barata.
Nada disso interessou a Julius. Não pretendia nenhum tipo de chantagem. Queria, isso sim, conhecer a maneira de trabalhar do inglês, descobrir seu estilo. Cada um deles tinha um estilo. Clarence sabia disso como ninguém.
Além de Alan Payne e Bernard Davish, Mohamed Ahsan era o único a saber das investigações feitas em Lausanne. Há algum tempo, o paquistanês participava do fechado círculo de decisões do conglomerado. Mesmo assim, Julius surpreendeu-se ao saber que o matemático desejava falar-lhe sobre Clive Maugh. Que poderia Ahsan saber de Maugh? Curioso, recebeu-o na suíte, ao anoitecer.
Os dois sentaram-se a um canto, de onde podiam contemplar a inesgotável paisagem do estuário. Jesus trouxe chá para o paquistanês e um copo de vodca para o patrão. Mohamed sorveu o primeiro gole, sentiu o incomparável aroma das folhas de Darjeeling, que o mordomo filipino reservava só para ele, voltou-se para o velho serviçal, de pé, do outro lado da suíte, e fez-lhe uma mesura, quase imperceptível. Só então dirigiu-se a Julius, que notara cada detalhe da liturgia.
– Todos os dias, pouco depois da chegada de Clive Maugh à sede do Centro-Europeu, aumenta consideravelmente o volume de negócios com obrigações da Eurotunnel no mercado eletrônico. Começam a ser negociados lotes grandes, sempre em números múltiplos de 12 milhões de dólares – disse, de supetão, cortando caminho, para não ofender a inteligência do interlocutor com uma série de explicações preliminares.
Clarence gostou da informação. Só mesmo Ahsan imaginaria confrontar o horário do operador com o volume de negócios. Então, as obrigações da Eurotunnel eram o papel preferido do inglês. Este seguia um padrão constante no trabalho. Tinha um estilo, tal como Julius imaginara.
Jesus trocou o copo de vodca do patrão, embora este mal houvesse tocado a bebida. Fazia questão de mantê-la permanentemente supergelada, pois ele a apreciava assim.
Duas informações importantes. Clive Maugh operava obrigações da Eurotunnel. Trabalhava com lotes múltiplos de 12 milhões. Isso facilitava sobremaneira o acompanhamento do adversário. Se, por exemplo, logo após a chegada de Clive Maugh ao Centro-Europeu, o mercado eletrônico registrasse uma venda de 48 milhões daquelas obrigações, para vários compradores, isso significava que o Sindicato vendera aquele montante. A recíproca seria verdadeira.
– Às vezes, aumenta sua posição ao longo do dia. Sempre em múltiplos de 12 milhões – acrescentou Mohamed.
Clarence estava abismado. Quem poderia imaginar? O matemático descobrira o padrão de comportamento de Clive Maugh.
– Como se fosse sua assinatura ou impressão digital – concluiu o paquistanês, com naturalidade.
Em todos os grandes momentos especulativos da História, os jogadores elegem um papel favorito. Todos querem negociá-lo porque tem muita liquidez. E tem muita liquidez porque todos negociam com ele. Forma-se o círculo vicioso, fazendo com que uma empresa se destaque das outras. Naquela virada de milênio, as obrigações da Eurotunnel tornaram-se, subitamente, a coqueluche dos especuladores.
Julius as vinha estudando cuidadosamente. Desde que estourara seu orçamento pela primeira vez, em 1990, o túnel sob o canal constituía-se em um verdadeiro pesadelo para seus 720 mil acionistas e para os 220 bancos que financiaram o projeto. Nem mesmo o início das viagens comerciais, em outubro de 1994, aliviara a situação.
Os prejuízos da Eurotunnel PLC alcançavam quase 8 bilhões de dólares. Com seu orçamento irremediavelmente estourado, a empresa corria o risco de falir. Suas obrigações vinham sendo negociadas no mercado eletrônico por apenas 60% de seu valor de face.
Ao contrário da maioria, Julius não acreditava na possibilidade de falência da Eurotunnel. Em sua opinião, o pior já ficara para trás. O forte sentimento consumista, que, com a chegada do novo milênio, se apoderara das pessoas, terminaria por refletir-se em melhores resultados para a operadora do túnel. Considerava um exagero as obrigações estarem sendo negociadas por tão pouco. Por isso, as vinha comprando agressivamente.
Restava agora saber qual a posição do Centro-Europeu. Já que Ahsan descobrira a assinatura eletrônica de Clive Maugh, não demorariam a saber se ele era um touro ou um urso.
Logo constataram que o Sindicato era vendedor sistemático. Encontrava-se permanentemente vendido a descoberto em obrigações da Eurotunnel. Julius Clarence concluiu que chegara a hora do confronto. Decidiu-se por apostar fortemente do outro lado. Seria touro desta vez.
Em Lausanne, Clive Maugh percebeu imediatamente a posição do inimigo. Exultou. Nunca estivera tão seguro de uma posição. Pois só ele tinha conhecimento dos fatos que iriam ocorrer em poucas semanas, jogando no abismo as obrigações da Eurotunnel e arrastando com elas Julius Clarence.
Seria preciso mover cuidadosamente, sem nenhuma margem de erro, as três peças de seu xadrez: Horace Bowie, responsável pelos seguros do Eurotúnel, Christopher Hawn, líder máximo do Partido Radical Nacionalista Saxão, e o cardeal Bento d’Onofrio, curador do Tesouro do Vaticano.
CAPÍTULO 96
Horace Bowie não costumava ser convidado para jantares de negócios aos sábados. Mas o senhor Alfonso Maximiliano, diretor da Oaks, dissera-lhe, pelo telefone, que só estaria em Londres durante o fim de semana. Dissera também que apresentaria uma proposta de seguros irrecusável.
Nenhum dia era inoportuno, se estivesse em jogo um bom negócio para a companhia. Bowie pensava assim. E, quem sabe não poderia ouvir rapidamente a proposta do senhor Maximiliano? O restaurante, Rudland & Stubbs, não podia ser mais conveniente. Após o jantar, seria possível dar um pulo à estação de King’s Cross, a cinco minutos de carro, e encontrar-se com uma de suas amiguinhas. Tornara-se um expert. Dois, no máximo três telefonemas, combinaria um rápido programa no Saint-Pancras Central Hotel, a poucas quadras da estação, não muito longe do Stubbs.
O telefonema de Maximiliano dera nova vida a seu fim de semana. Ouviria sua proposta e partiria célere atrás das meninas. Mathilde poderia desconf... Não! Mathilde nunca desconfiava de nada.
O restaurante Rudland & Stubbs era uma casa de duas personalidades. Especializado em frutos do mar, situava-se na City o suficiente para ser freqüentado, durante o almoço, por homens de negócio. Mas se localizava junto ao mercado de carne, na orla norte da comunidade de negócios. À noite, recebia gente mais alegre, menos formal: alguns executivos boêmios ou retardatários e o pessoal do Gay and Lesbian Center, ali perto, na Cowcross Street. No jantar, o movimento era menor, as pessoas não tinham pressa. Os garçons atendiam mais descontraídos, com menos formalidade.
Bowie conhecia o Stubbs. Mas nunca o freqüentara à noite. Conseguiu estacionar seu Peugeot 306, verde-garrafa, bem à porta, e entrou. Dirigiu-se ao maître. Este indicou-lhe o senhor Maximiliano, sentado a uma mesa à direita, encimada por uma gravura, Pêcheurs Réunis. Usava um pesado par de óculos escuros, apesar da hora.
Maximiliano esperou que Bowie chegasse perto de sua mesa. Só então levantou-se.
– Alfonso Maximiliano – disse, estendendo a mão e abrindo um sorriso cordial, os óculos escondendo-lhe boa parte da fisionomia.
– Bowie, Horace Bowie, Eurotunnel, seguros – apresentou-se o outro, jovialmente.
– Sente-se, por favor. Não estranhe meus óculos. Passei por uma cirurgia e não posso expor os olhos à luz.
– Costuma vir muito aqui, senhor Maximiano... senhor Maximiliano?
– É a primeira vez. Moro no continente. Bebe alguma coisa?
Bowie planejara forçar um jantar rápido, para ter tempo de encontrar-se com um de seus rapazes. Pediu um suco de tomate, que pretendia engolir rapidamente. Para seu desalento, o outro pediu um Johnnie Walker Black Label e um balde com gelo.
– Encontra-se na Oaks há muito tempo, senhor Maxima... Maximilia...? Nunca ouvi...
– Na verdade, não trabalho lá. Um creme de espinafre – pediu ao maître, que se aproximara.
– Não compreendo, senhor Maximiano. Disse-me, ao telefone, que era diretor da Oaks. A proposta de seguros irrecusável. Lembra-se?
– Sim, eu disse isso. Mas não se trata de vender uma apólice. Não deseja uma entrada?
– Ah... um coquetel de frutos do mar – disse Bowie, mais para livrar-se do maître e saber logo qual era o assunto do senhor Miliano. Se fosse uma brincadeira de mau gosto, retirar-se-ia imediatamente.
– Senhor Maximi... – começou a dizer, quando, na mesa à sua esquerda, reconheceu a fisionomia de uma jovem que acabara de sentar-se, uma japonesa. Não. Coreana! Não podia ser. Primeiro, uma brincadeira de mau gosto. O senhor Maximiliano não trabalhava na Oaks. Agora, o garoto coreano. O primeiro deles. Lembrava-se bem daquela noite na cabine telefônica da estação da Baker Street.
– Está sentindo algo, senhor Bowie?
Alívio! A coreana não fez menção de reconhecê-lo.
– Senhor Maximiliano – disse Horace, contrariado. – Se não é diretor da Oaks, então por que...
Mas não chegou a completar a frase, pois o garçom trouxe o creme de espinafre e o sea food cocktail. Enquanto isso, na mesa ao lado, o coreano pediu ao maître uma lagosta ao alho e, simultaneamente, uma nova garota, outra das amiguinhas de Horace, entrou no restaurante e sentou-se à outra mesa adjacente à deles.
Alfonso Maximiliano e Horace Bowie encontravam-se agora cercados pelos dois travestis, um de cada lado.
Se havia algo que Bowie conhecia bem, era atuária, cálculo de probabilidades.
– O que está acontecendo, senhor Maximiliano?
– Tome sua sopa. Depois, sugiro um Dover sole. Se olhar para trás, verá outros de seus amiguinhos. Se precisar de mais evidências, posso mostrar-lhe algumas fotos. Estão comigo, em minha pasta. Foram tiradas aqui perto, nas imediações de King’s Cross. Tenho também alguns exemplares colhidos no Central Hotel.
Bowie parecia viver um pesadelo. O horrível sotaque de Maximiliano doía-lhe ao ouvido. As garotas, como conseguira reuni-las? E, no entanto, estavam lá, ao redor dele.
– Vou deixá-lo mais à vontade, tirá-lo daqui – disse Maximiliano. Mas, antes, termine o jantar. Depois, daremos uma volta em seu carro. Poderemos, então, tratar de negócios. Falaremos de seguros. Como disse antes, uma proposta irrecusável.
Seguindo instruções que recebera por telefone, Christopher Hawn aguardou na plataforma da direção oeste, estação de Marble Arch, linha Central do underground. Colocou-se na extremidade leste, junto à boca do túnel arredondado. Assistiu à passagem de diversos trens, embora o tráfego fosse bastante espaçado na manhã de domingo. Finalmente, o homem de óculos escuros, o mesmo que vira semanas antes em South Kensington, desceu do primeiro vagão de uma composição, na outra extremidade.
O desconhecido caminhou pela plataforma semideserta em direção ao supremo líder dos saxões radicais. Os dois homens permaneceram apenas alguns segundos lado a lado, o suficiente para Hawn receber a segunda parcela de 50 mil libras. As restantes 100 mil seriam pagas tão logo os radicais cumprissem a missão pela qual seu líder estava sendo pago.
CAPÍTULO 97
Clive Maugh continuou vendendo, a descoberto, obrigações da Eurotunnel, sempre trabalhando em lotes múltiplos de 12 milhões. Manteve o mesmo padrão de comportamento, cujas pegadas Mohamed Ahsan rastreara. De Nova York, Julius Clarence e suas empresas aumentaram suas compras.
Ambos os contendores atuavam em volumes gigantescos. Clive Maugh, o urso, e Julius Clarence, o touro, haviam definido, de maneira inequívoca, suas posições no tabuleiro eletrônico.
O cenário favorecia Clarence. Embora continuasse operando no vermelho, os prejuízos da Eurotunnel diminuíam. Um boom turístico, como a humanidade nunca vira antes, mantinha o Eurostar permanentemente lotado. Cientes disso, fundos e especuladores passaram a apostar do lado do touro. O mercado só não subia porque, do outro lado, o Banco Centro-Europeu de Lausanne, o temível Sindicato, vendia grandes lotes, sempre múltiplos de 12 milhões.
Finalmente, os fundamentos pesaram na balança. Os papéis começaram a subir.
Os dois lados encontravam-se extremamente alavancados. A Associados e seu grupo passaram a receber um enorme fluxo de dinheiro. Na outra ponta, o Sindicato sofria pesados desencaixes.
Em Lausanne, os membros do Comitê Diretor do Centro-Europeu sentiam-se extremamente desconfortáveis. Olhavam Clive Maugh com visível desconfiança. Mas o inglês se preparara para aquele momento. Uma etapa inevitável, embora desgastante, em seu plano para acabar com Julius Clarence. Tentando tranqüilizar seus companheiros, solicitou uma reunião especial do comitê. Pediu-lhes uma semana. Era o que bastava. Como artífice dos acontecimentos, sabia disso perfeitamente.
O Sindicato via-se forçado a pagar ajustes além de suas possibilidades, para sustentar sua enorme posição vendida em obrigações da Eurotunnel. Seria preciso contatar pelo menos um dos grandes clientes, para obter um reforço de caixa. Maugh prontificou-se a conversar com o cardeal Bento d’Onofrio, curador do Vaticano, detentor da maior carteira do Sindicato.
Solicitou e obteve, imediatamente, uma audiência com o cardeal D’Onofrio. Embarcou para Roma. Os dois, embora conversassem quase diariamente pelo telefone, jamais se haviam encontrado pessoalmente.
Difícil precisar o que mais sobressaía em Sua Eminência. O porte gigantesco apropriava-se mais a um profissional de luta livre do que a um santo membro do Colégio Cardinalício. A calva reluzente, margeada pouco acima das orelhas pelos últimos e ralos fios de cabelo, parecia polida e engraxada. A protuberante barriga, resultado de décadas a fio de prática contínua do pecado da gula, impossibilitava qualquer pessoa de chegar muito perto do prelado.
O cardeal levantou-se, com dificuldade, para receber o visitante. Padecia de gota. Sendo muito mais alto, mais largo e mais pesado que Maugh, o inglês praticamente desaparecia junto a ele.
Clive estendeu a mão para o cardeal. Este quase a quebrou. O diretor do Centro-Europeu não conseguiu evitar um gemido.
– Mil desculpas, inglês – o prelado costumava chamá-lo assim. – Esqueço-me amiúde da força que o Senhor deu a minhas mãos. Foi-me particularmente útil quando trabalhei no campo, na Sardenha, nas planícies do Campidano, cultivando tabaco. Mais tarde, recolhi-me ao seminário, mas a força permaneceu. Mas a que devo a visita? Ao que soube, o senhor não é dado a relações públicas. Venha, venha, inglês. – Conduziu Maugh a um conjunto de poltrona e sofá.
Clive abriu e fechou por diversas vezes a mão direita, verificando se quebrara alguma coisa. Sentou-se no sofá. Foi imediatamente impelido para cima, pelo ar comprimido no interior da almofada, quando o cardeal sentou-se, com seus 150 quilos, a seu lado.
– Vossa Eminência acompanha meus relatórios – disse Maugh, depois de estabilizar-se. – Espero que esteja satisfeito com os resultados.
O cardeal tinha como norma nunca elogiar. Fazia as pessoas se esmerarem menos no trabalho. Mas o diretor do Centro-Europeu era uma exceção. Embora se estivessem vendo pela primeira vez, Bento d’Onofrio considerava-o um amigo.
– Confesso que não são dos piores – concordou. – Mas tenho certeza de que não se deslocou da Suíça só para saber o grau de minha satisfação. Garanto que tem algo em mente.
– Bem, cardeal. Assim como o senhor lê meus relatórios, também andei lendo alguns dos seus. Mais precisamente, uma circular que encaminhou aos bispos da Santa Igreja, pedindo um esforço extra de captação de donativos. Saiu nos jornais.
– Um documento de circulação exclusiva, inglês. Mas, com tantos bispados ao longo do mundo, foi necessário que fizéssemos milhares de cópias. Alguns bispos... Bem, era inevitável que a imprensa soubesse. Sua Santidade está numa fase de extrema diligência, na prática da caridade. Os gastos são enormes... – O Sumo Pontífice vinha usando o dinheiro da Igreja na erradicação de diversos bolsões de miséria, ao longo do mundo, especialmente na África.
– Os papas deveriam ser sempre... – começou a dizer o cardeal. – Mas não sei por que estou falando isso. O Sacro Colégio é infalível quando escolhe Sua Santidade. E foi quem o escolheu, embora levássemos semanas... Mas o que tem a ver sua visita a Roma com meu documento, confidencial, diga-se de passagem, aos bispos?
– Tenho uma operação extremamente rentável, cardeal, fantasticamente rentável, eu diria. Mas preciso de mais capital. Não gostaria de dar muitos detalhes. Vossa Eminência poderia não achá-la muito ética.
– Realmente, não gosto de detalhes, inglês. “Pecunia non paribus pecunia”, escreveu Santo Tomás de Aquino. Nenhuma operação que envolva juros é ética, na ótica do santo. Nada de detalhes. Mas preciso saber se existe algum risco.
– Nenhum, cardeal. Mas necessito de 2 bilhões de dólares por um mês. Renderão 20%, pelo menos. Vossa Eminência não precisará recorrer aos bispos. O Papa poderá prosseguir em sua piedosa missão de caridade: 20%.
Dois bilhões! D’Onofrio assustou-se: 20% equivaliam a 400 milhões de dólares. Em apenas um mês. “Em apenas um mês”, ficou repetindo baixinho, assustado. “Valha-me, Santo Tomás.” Dois bilhões de dólares por um mês.
Tal como Clive Maugh previra desde o início – conhecia Bento d’Onofrio melhor do que qualquer outro cliente do Sindicato –, o cardeal não resistiu.
No mercado eletrônico, o movimento especulativo atingia seu clímax. Os jogadores, apostando cada vez mais. Julius Clarence piramidava sua posição usando os lucros para comprar, cada vez mais, obrigações da Eurotunnel. O papel continuou subindo. O Centro-Europeu, agora reforçado pelo caixa do Vaticano, manteve-se vendido, fortemente apostado nos ursos.
CAPÍTULO 98
Ao final da tarde de terça-feira, 22 de abril, Horace Bowie, chefe do Departamento de Seguros da Eurotunnel, entregou a Paul Rushton, corretor da Summers Brokers, um cheque de 87 mil libras, correspondente à renovação da apólice do seguro de lucros cessantes do Eurotunnel, que venceria precisamente à zero hora da quarta-feira, dia 23.
Tal procedimento seria normal e rotineiro, não fossem alguns detalhes. Paul Rushton era um nome falso. A Summers Brokers não existia. A única coisa real daquela transação era a Western Associated, na qual o seguro seria feito. Mas a Western não tinha a menor idéia de ter sido agraciada com a escolha da renovação de apólice tão importante.
Bowie sentia infinita revolta com o procedimento de todos os envolvidos: o estrangeiro de óculos escuros, que o chantageara no Rudland & Stubbs, a Summers Brokers, da qual nunca ouvira falar, e a Associated. Mas nada podia fazer, a não ser render-se à extorsão. O desconhecido – só podia ser um agente da Western – ameaçara divulgar suas fotos com os travestis, destruindo seu casamento e sua carreira.
Desde seu encontro no restaurante, sua vida transformara-se em um tormento. Culminando com o pagamento, aquela tarde, da renovação da apólice. Mas a Western não perdia por esperar. Haveria de chegar o dia da desforra. O universo dos seguros era pequeno e o mundo dava muitas voltas.
O corretor Paul Rushton, na verdade o investigador particular Jeffrey Rogers, deixou apressadamente o Edifício Adelphi. Seguiu pelo Strand, na direção nordeste. Em Aldwych, sempre caminhando a passos largos, mudou de direção e tomou o rumo do Tâmisa. Em poucos minutos, chegou à parte central da ponte de Waterloo. Parou e debruçou-se sobre a amurada.
Um rebocador passava sob o arco da ponte. Rogers aguardou que a popa se afastasse. Só então lançou ao rio os minúsculos pedaços do cheque de 87 mil libras, jogando-os na esteira oleosa e borbulhante.
A Scotland Yard encontrava-se de prontidão nas estações de trem e aeroportos. A vigilância estendia-se às estradas e, na costa, aos terminais de ferryboat e da linha de catamarãs. Em Londres, Dover, Folkestone e outros portos do canal, o controle do tráfego de passageiros era anormalmente severo.
Havia sérias razões para isso. Após duas temporadas gloriosas, a equipe de futebol do Arsenal, depois de vencer, simultaneamente, o campeonato e a taça da Inglaterra, disputava agora a final da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Paris, contra a poderosa esquadra da Juventus, de Turim.
Por diversas vezes, desordeiros, que participavam das torcidas dos times ingleses, haviam semeado brigas, bebedeiras, depredações, e até mortes, no continente. Por isso, naquela manhã de quarta-feira, policiais fardados revistavam os últimos hooligans que embarcavam para o jogo daquela noite. Outros agentes, disfarçados de torcedores, acompanhariam os diversos grupos até a capital francesa, numa missão conjunta da Scotland Yard e da Préfecture de Police de Paris.
Com o interesse das autoridades totalmente concentrado nos hooligans, apenas dois agentes acompanhavam, na estação de Waterloo, os passageiros do Eurostar, horário das 10h20, nonstop, destino Gare Midi, Bruxelas.
Enfiado dentro de um terno, e usando gravata, Norman Crane, militante do Partido Radical Nacionalista Saxão, parecia um peixe fora d’água. O jovem desembarcou de um táxi, na parte lateral da estação, depositou a mala maior em um dos carrinhos disponíveis e, já no interior da gare, seguindo instruções de um funcionário, colocou o bilhete em uma máquina verificadora de autenticidade. Tendo à mão uma pequena maleta executiva, passou ao saguão privativo do Eurostar.
Nenhuma das duas malas foi revistada. Nem mesmo submetida aos raios X. O Eurostar para Bruxelas pouco interessava aos policiais. Encontravam-se, naquele momento, atarefados na vigilância de torcedores, que, em outra plataforma, dirigiam-se à França para o jogo.
Mesmo se tivessem prestado atenção a Norman, pouco à vontade em sua roupa de executivo, dificilmente descobririam algo importante. Na mala pequena, havia apenas papéis. Na grande, roupas, objetos de uso pessoal e farto equipamento fotográfico. Junto a este, álbuns, negativos, slides e um saco especial para guardar e proteger filmes ultra-sensíveis, acima de 400 ASA.
Caso a mala grande fosse passada pelos raios X, este revelariam apenas o inocente saco de filmes, um produto corriqueiro, disponível em qualquer loja de apetrechos fotográficos. Suas quatro camadas protetoras, uma de plástico, duas de polietileno e uma finíssima película de chumbo, impediriam que os policiais vissem, em seu interior, alguns fios e eletrodos, conectados a um objeto fino, do tamanho e forma de uma caneta. Os raios X revelariam também diversas outras canetas e vasto estoque de bobinas de filmes fotográficos.
Só um exame minucioso da mala, o que não era o caso naquela manhã, com todos os policiais preocupados com os hooligans, mostraria o fundo falso, no qual se encontravam acondicionados quatro quilos de Anfo, combinação de 94,3% de nitrato de amônio e 5,7% de óleo diesel, produtos fáceis de encontrar no comércio mas que, misturados nessa proporção, constituem uma substância granulada, de cor parda, e formidável poder explosivo.
Somente às 10h os passageiros do Eurostar foram liberados para a escada rolante que dá acesso à plataforma de embarque, tão iluminada quanto o dia lá fora, devido à abóbada de vidro.
Crane dirigiu-se a seu vagão, número 18, segunda classe, que verificou ser o primeiro da composição, logo após a locomotiva e carro de força dianteiro. Colocou a mala no porta-bagagem, junto à porta do vagão, levando consigo apenas a maleta executiva. Sentou-se na poltrona 25, junto à janela, de frente para a locomotiva.
Deveria estar excitadíssimo. Mas as drogas que o chefe Hawn, em pessoa, lhe administrara, naquela manhã, já surtiam os primeiros efeitos. Enquanto aguardava a partida, Norman foi tomado de um sentimento de paz interior, apesar do risco envolvido na missão. Só uma coisa o preocupava: o fato de viajar no primeiro vagão. Hawn nada lhe dissera sobre isso. O perigo seria maior... Não! Não lhe cabia duvidar do líder, em hora tão importante.
Suas instruções eram claras. Cinco minutos após o trem penetrar o túnel, sob o mar, iria até o compartimento de bagagens e giraria o segredo da mala para o número 352. Teria, então, 352 segundos, quase seis minutos, para deslocar-se até outro vagão, o mais distante possível.
Deveria sentar-se em uma poltrona, preferencialmente de costas para a locomotiva, a fim de melhor absorver o impacto da frenagem súbita, que certamente ocorreria após a explosão. Caso não houvesse uma disponível, entraria em um dos toaletes e encostar-se-ia na parede.
Após esse tempo, a mala explodiria. Possivelmente, um ou dois passageiros, os mais próximos, morreriam. Muitos ficariam feridos. O trem seria forçado a parar, sob o canal. A notícia logo se espalharia pelo mundo. Seria o início da grande arrancada dos Saxões Radicais.
Norman teria 352 segundos para safar-se de sua carga mortal.
Na cabine de comando, o inglês Martin Bridges, maquinista do Eurostar, tal como um piloto de avião antes da decolagem, procedia à conferência da listagem final de partida, no sistema de computador, trilíngüe, a sua frente.
Finalmente, às 10h23, com três minutos de atraso, o centro de controle, em Lille, na França, autorizou Bridges a dar a partida. Imediatamente, a seu comando, os 12 poderosos motores assíncronos repassaram à transmissão, e esta aos eixos, a descomunal força de seus 12.200kW. O Eurostar, lentamente, deixou a estação de Waterloo.
À medida que o comboio ganhou velocidade, acelerou-se a freqüência dos batimentos das rodas sobre as pequenas frestas que separam cada um dos trilhos de aço. Em pouco tempo, o som tornou-se contínuo. O Eurostar projetou-se à frente, por sobre as lâminas paralelas que ora se acoplam a outras, ora de outras se separam, na labiríntica teia que atravessa os cinzentos subúrbios da capital inglesa.
Dentro do vagão de segunda classe o terrorista entretinha-se procurando ver a sombra da locomotiva, projetada nos muros às margens da ferrovia, uma brincadeira de seus tempos de criança, nas poucas vezes em que viajara de trem.
A paisagem suburbana, entremeada de campos de rúgbi e futebol, dava agora lugar a pequenas aldeias, pastos e plantações. Como não havia mais muros, Crane passou a examinar os passageiros em seu campo de visão, sentados às poltronas cinzentas com listras amarelas.
Havia duas moças, um casal de meia-idade, uma moça sozinha e, no último banco, antes da porta, um casal. O homem, um oriental de pele escura – “Devia ser um indiano”, pensou Norman –, roncava. Seus óculos pareciam cair a qualquer momento. Sua mulher parecia inglesa. Desejou que o indiano estivesse entre os mortos.
Começou a chover. Sentado em sua cadeira de comando amarela, situada exatamente no centro da cabine, para não desagradar nem os maquinistas franceses e belgas, de um lado, nem os ingleses, de outro, Martin Bridges acionou os limpadores de pára-brisa. As duas enormes palhetas negras passaram a dançar a sua frente.
Martin gostava daquela visão. Os trilhos, bem lá na frente, pareciam um só. Era como se o Eurostar o estivesse cortando em duas fatias e passasse exatamente no meio delas. Verificou a tela do ultramoderno TVM 430. O novo sistema captava os sinais colocados ao lado da ferrovia. A 300 quilômetros por hora – velocidade que o trem desenvolvia em solo francês – o condutor simplesmente não teria tempo de lê-los. Mas, naquele momento, deslocavam-se a apenas 120km por hora.
Em Tonbridge, o maquinista recebeu ordem de acelerar até 160km por hora. Procedeu imediatamente à mudança e deu uma checada geral na instrumentação. Se trabalhasse com perícia, respondendo prontamente aos comandos de Lille, poderia compensar os três minutos de atraso.
No primeiro vagão de passageiros, o terrorista comprou, de um funcionário que conduzia um carrinho pelo corredor, entre as poltronas, um chocolate quente e um croissant. Pagou por eles 2 libras e 5 pence.
Às 11h35, em Folkstone, o trem mergulhou no Eurotunnel. Norman Crane engoliu rapidamente o último pedaço de croissant. Deu uma olhada no relógio. O coração agora batia forte. Não faltaria com seu dever. Na sede do Centro-Europeu, em Lausanne, Clive Maugh, impassivelmente, ligou seu televisor.
Tão logo entrou no túnel, sem que os passageiros pudessem perceber, o Eurostar passou, subitamente, a ser alimentado por uma corrente de 25 mil volts, contra os 750 volts do Sul da Inglaterra. No interior da composição, um zumbido forte e contínuo soava como um avião.
Crane acompanhou a passagem dos cinco minutos. Christopher Hawn escolhera bem seu homem. Tal como um autômato, em nenhum momento pensou em retroceder.
Quando o relógio digital do terrorista acusou 11h40, ele levantou-se, caminhou até o compartimento de bagagens, procurou sua mala e, encontrando-a, girou o primeiro disco do segredo: três. O segundo: cinco. O terceiro: dois.
Tão logo o segredo foi completado, a espoleta elétrica, do tamanho e forma de uma caneta, camuflada no interior do saco especial para proteção de filmes ultra-sensíveis, acionou um dos rolos de filme, que não era mais nada do que um cartucho de dinamite de 50 gramas. Quando a dinamite explodiu, liberou energia suficiente para detonar os quatro quilos do terrível Anfo. Em milésimos de segundos, o Eurostar transformou-se no inferno.
FINAL
CAPÍTULO 99
Desde seu início no Centro-Europeu, há mais de 30 anos, Clive Maugh sempre fora exímio em interpretar, rápida e corretamente, os fatos inesperados. Conseguia, graças a essa habilidade, antecipar-se aos outros operadores, comprando e vendendo as posições certas nos mercados, quando ocorria algo inesperado, fossem guerras, catástrofes, atentados ou golpes de Estado.
Mas, naquele início de tarde de primavera, pela primeira vez em sua vida, Maugh era, ele próprio, o senhor absoluto dos fatos. Enquanto, o televisor ligado, aguardava a notícia da explosão no interior do Eurotunnel, o inglês sentia, na contração dos esternoclidomastóideos, a emanação de infinita sensação de superioridade.
Apostava consigo mesmo quanto tempo decorreria entre o fato e a notícia. Sem saber que o Eurostar penetrara o túnel com dois minutos e meio de atraso, esperou para as 13h15, hora de Lausanne e de Lille, 12h15 na Inglaterra, o primeiro boletim informativo. Errou pelos exatos 2 minutos e meio. Segundos após, às 13h17’30’’, NOTÍCIAS AINDA NÃO CONFIRMADAS DÃO CONTA DE FORTE EXPLOSÃO NO INTER...
Clive Maugh não esperou mais nada, era o único que não precisava. Rumou para a sala de Otto Behr. Encontrou-o com o telefone em uma das mãos, a outra procurando o controle remoto da televisão.
O chefe de Inteligência perguntou imediatamente:
–Você já soube, você viu...? –Subitamente se deu conta. As obrigações da Eurotunnel, Maugh pedira uma semana, o sorriso diabólico. Não, não precisava ouvir uma palavra sequer. Clive Maugh, de alguma maneira, estava envolvido com aquilo. Quanto menos soubesse, melhor. Um fait accompli.
Norman Crane jamais soube que fora traído. A mala explodiu-lhe nas mãos, a dois palmos do abdômen. Pedaços do tronco, cabeça, vísceras disformes, ossos, músculos foram projetados ao longe.
A violenta explosão ocorreu no compartimento de bagagens, na parte da frente do primeiro vagão de passageiros do Eurostar, logo após a locomotiva e carro de força dianteiro. Vinte e cinco passageiros, entre os quais as duas moças à frente da poltrona de Norman, a moça sozinha, o casal de meia-idade, o indiano, sua mulher, morreram no exato instante, ou minutos depois, da explosão. Pedaços de corpos, roupas, malas, poltronas viam-se agora transformados em destroços fumegantes, enquanto o trem, movido pela formidável inércia de suas 800 toneladas, continuou projetando-se para a frente, as ferragens do carro 18 friccionando-se contra o túnel, numa mistura infernal de ruídos e faíscas.
O restante do trem foi pouco afetado. Os quatro quilos de Anfo foram insuficientes para estender o estrago aos outros vagões, à exceção de janelas quebradas, conseqüência de destroços do primeiro carro, que ricocheteavam entre a composição, ainda em andamento, e as paredes do túnel. Os chassis seguiram intactos, assim como os eixos e suas rodas, nenhuma delas, nem mesmo levemente, prejudicada pela explosão. O Eurostar, mesmo ferido, prosseguiu ainda por intermináveis segundos a 160km por hora, arrastando consigo o vagão 18 e sua carga macabra.
O maquinista Martin Bridges, em sua cabine localizada adiante da bomba, fora, entre os 800 passageiros e tripulantes do Eurostar, um dos menos atingidos pela explosão. Seus 20 anos de treinamento vieram à tona imediatamente. O ruído da bomba e a irrupção de diversos sinais de alarme, que passaram a soar estridentemente na cabine, fizeram-no acionar, imediatamente, os três sistemas de frenagem de emergência. O barulho dos reostatos, sapatas e discos juntou-se à profusão de ruídos que emanavam das rodas, friccionando-se aos trilhos e às ferragens que se entrechocavam à traseira da locomotiva. O trem da morte começou a parar.
Não foram poucos os passageiros e tripulantes a pensar que o túnel viera abaixo. Só depois que o trem imobilizou-se totalmente, os mais corajosos aventuraram-se à frente para ver o que acontecera. Perceberam, imediatamente, tratar-se de uma explosão. A notícia correu, de boca em boca, até o final do comboio, 300m atrás do carro 18.
O centro de comando em Lille, mesmo antes de saber com precisão o que ocorrera, enviou a primeira equipe de socorro. O Eurotunnel desde seu planejamento inicial, preparara-se para um evento como aquele. Além dos dois túneis, em ambos os sentidos, fora construído um terceiro, de serviço. Por esse túnel, precipitaram-se, imediatamente, as primeiras missões de resgate.
Minutos antes das 2h da tarde, hora do continente, bombeiros, tripulantes do Eurostar e todos os médicos a bordo atendiam os sobreviventes do vagão 18, a maioria em estado gravíssimo, vísceras expostas, membros amputados, o sangue misturando-se às lágrimas e gritos de dor e desespero.
Julius Clarence soube às 9h15 da manhã, hora de Nova York. Mesmo sem conhecer os detalhes da tragédia, percebeu que fracassara em sua operação com as obrigações da Eurotunnel. Convocou Alan Payne em Ridgefield e chamou Bernard, Mohamed Ahsan, Mark Scott e outros executivos a sua sala. Determinou que Davish e Scott coordenassem os demais operadores, de maneira que fizessem o máximo de caixa possível. Lembrou-se de um episódio ocorrido mais de um quarto de século antes, quando Abdul al-Kabar lhe informara que a alemã Sandra Kleiber fora assassinada em uma estrada da Áustria.
No dia seguinte, a explosão no interior do Eurotunnel monopolizava a primeira página dos jornais em todo o mundo: 33 pessoas haviam morrido. Para outras cinco, os médicos tinham poucas esperanças. Outros ficariam aleijados para sempre.
Só na sexta-feira o mercado soube que o ato terrorista – ninguém tinha dúvidas de que se tratava de um ato terrorista – ocorrera num momento em que o Eurotunnel se encontrava descoberto em sua apólice de seguro contra lucros cessantes, vencida à meia-noite de terça para quarta-feira.
Justamente para falar sobre a não renovação do seguro, Horace Bowie, por iniciativa própria, depunha a agentes do CID, no prédio da Scotland Yard.
Os arquivos do departamento registravam centenas de casos em que incêndios e outros eventos haviam sido provocados para recebimento criminoso de seguros. Mas aquele caso era exatamente o contrário. A explosão ocorrera logo depois de a apólice perder sua validade.
Bowie não era suspeito de nada. Mas sua história deixava os policiais extremamente intrigados. O responsável pelos seguros da Eurotunnel afirmava, entre soluços, ter pago 87 mil libras a Paul Rushton, um nome que não constava de nenhum registro do Departamento de Inteligência Criminal da Yard, da Summers Brokers, provavelmente uma empresa fictícia, para renovação de um seguro a ser coberto pela Western Associates. A polícia apurara que essa idônea firma não recebera o cheque e nada sabia a respeito da renovação do seguro.
Tão logo soube da explosão no interior do túnel, e que o seguro não havia sido renovado na Western, Horace, mesmo sabendo que sua carreira e, provavelmente, seu casamento haviam chegado ao fim, decidiu procurar a polícia. Contou tudo. Falou dos travestis, do homem de óculos escuros, do jantar no Rudland & Stubbs e do pagamento ao emissário da Summers, Paul Rushton, na tarde da terça-feira.
Desde o início, a polícia acreditara na culpa de alguma organização terrorista, embora, até então, nenhuma delas reivindicasse o atentado, como de hábito. Mas o episódio do falso seguro deixava os policiais desorientados. Para que pudessem procurar, de maneira lógica, os suspeitos de um crime de tal magnitude seria preciso, primeiro, verificar quem lucrara com a ocorrência.
“Quem estaria ganhando com aquilo?”, indagavam-se as autoridades. Algum grupo vendido, a descoberto, em ações ou obrigações da Eurotunnel? O Banco Centro-Europeu de Lausanne era o grande vendedor, segundo fontes do mercado. Mas um banco simplesmente não explode túneis e mata vítimas inocentes. Fantasioso demais para ser considerado seriamente.
As autoridades tinham em mão um nome, Paul Rushton, que acreditavam ser falso. Desaparecera com um cheque de 87 mil libras. Outra pessoa poderia estar envolvida: um homem aparentando 60 anos, segundo a descrição de Bowie, que falava inglês com pronúncia de estrangeiro e fora visto por ele, escondido atrás de óculos escuros. De real, os policiais tinham apenas o burocrata, envolvido com travestis, provavelmente apenas uma inocente vítima de chantagem.
Embora examinassem exaustivamente os arquivos do Departamento de Inteligência, lá permaneceu intocada uma carta datada de 1967, do então diretor do FBI, Edgar J. Hoover, comunicando à Yard que dois americanos, Rolf Duembier e Aubrey Elliot, haviam planejado a explosão de uma ponte ferroviária sobre o rio Zambeze, na Zâmbia, conforme denúncia de um senhor Otto Behr, diretor do Banco Centro-Europeu de Lausanne. Os americanos em questão, dizia a carta, haviam sido financiados por especuladores fortemente comprados em cobre na Bolsa de Metais de Londres.
Sendo um evento africano, de prioridade muito baixa na escala da Yard, a carta encontrava-se em um arquivo morto. Não fora transcrita nos computadores. Mas nem mesmo os velhos arquivos da polícia inglesa sabiam que, na época, Otto Behr relatara aquela operação a seus colegas do Comitê Diretor do Sindicato, por coincidência no mesmo dia em que decidiram contratar o inglês Clive Maugh, então operando para o grão-duque do Luxemburgo. Um dos membros do comitê, Jean Lesneur, à época diretor de Operações, esquecera-se de destruir sua cópia da ata daquela reunião, mais tarde inspirando seu sucessor, o próprio Clive Maugh, a explodir uma bomba no interior do Eurotunnel.
CAPÍTULO 100
Desde o momento em que a notícia da explosão chegou ao mercado, as obrigações da Eurotunnel entraram em espiral descendente. Mais tarde, quando os operadores souberam que a empresa encontrava-se descoberta em seu seguro de lucros cessantes, a queda acelerou-se, agora movida pelo pânico.
Se os mercados obedecessem a uma lógica matemática, as obrigações não teriam caído tanto. Em poucas semanas, os danos à ferrovia seriam reparados. Os trens voltariam a funcionar. Mas o mercado sempre desprezara a lógica e a matemática. Movia-se por psicologia de massa, ganância e medo.
Não apenas as ações e obrigações da Eurotunnel sofreram as conseqüências do atentado sob as águas do canal. Como sempre acontece em tais ocasiões, o mercado caiu como um todo. No mundo inteiro, as bolsas de valores desabaram. Na Europa, especuladores correram para o marco alemão; no Extremo Oriente, para o iene. O preço do ouro subiu, assim como o do petróleo.
Desde o início, Julius Clarence, em Nova York, e Clive Maugh, em Lausanne, sabiam o que aconteceria com o mercado. Quando a direção da Eurotunnel PLC informou que, a despeito dos pequenos danos às instalações, o tráfego seria suspenso por um mês, para implantação de novas medidas de segurança, as obrigações já haviam caído para 50% de seu valor de face. Mais tarde, quando se divulgou que 250 milhões de libras seriam necessários para a compra e instalação dos novos equipamentos, cederam para 45%.
Em poucas semanas, a Scotland Yard descobriu que os até então desconhecidos saxões radicais eram os autores da explosão. Christopher Hawn foi preso em Cancún, no México, onde se refugiara. Sem maiores dificuldades, e usando métodos mais apropriados às polícias do Terceiro Mundo, extraíram dele a informação de que recebera 200 mil libras para perpetrar o crime, cometido por um de seus seguidores, um jovem desajustado, de nome Norman Crane. O dinheiro havia sido pago por um homem de estatura mediana, aproximadamente 60 anos, sotaque de estrangeiro, usando permanentemente óculos escuros.
Os policiais lançaram-se ao trabalho. Baseados na descrição de Horace Bowie, agentes saíram em busca do mensageiro que recolhera 87 mil libras e do homem mais velho. Os travestis de Londres foram exaustivamente interrogados a respeito da pessoa que os contratara para jantar no Stubbs. Sempre a mesma coisa: estatura mediana, óculos escuros, etc., etc. O suspeito tornou-se imediatamente o homem mais procurado pela polícia.
Quando seu secretário o avisou de que Clive se encontrava na linha, o cardeal D’Onofrio apressou-se em atender.
– Acabo de remeter-lhe 2 bilhões e 400 milhões, conforme combinamos. – O inglês deu a informação, usando uma entonação neutra, sem enfatizar o montante de dinheiro, como se fosse um padeiro informando a uma dona-de-casa que o bolo de aniversário estava a caminho.
O cardeal exalou um gemido de alívio. Não dormia decentemente há vários dias. Nem mesmo comia direito. Desde a explosão do Eurostar, quando observara os mercados oscilando de maneira tresloucada, temera pelo santo dinheiro da Igreja. Por diversas vezes, pegara o telefone para perguntar ao inglês sobre a aplicação. “Talvez não muito ética”, aventara ele.
– Que Santo Tomás o proteja – agradeceu. – Se voltar a precisar, não um valor tão grande, o desconforto não compensa, conte conosco.
Já há cinco dias, a senhora Hardy estranhava o carro estacionado à frente de sua pensão para estudantes, na bucólica Coniston Road, em Bromley, a sudeste de Londres. Emma Hardy gostava de espiar pela janela. Vira perfeitamente quando um homem, usando pesados óculos escuros, estacionara o veículo, trancara a porta e se afastara. Mas isso fora há cinco dias. Finalmente, chamou a polícia.
Mesmo antes de conferir, pelo rádio da viatura, o número da licença, o policial Roy Weeks pressentiu tratar-se de um veículo roubado. Weeks conhecia tudo de automóveis. O luxuoso Rover 820 Ti, motor 2.7, turbinado, encontrava-se, além de empoeirado, algo deslocado naquela vizinhança de classe média baixa.
Através da Central, ficou sabendo que o número da licença não conferia, nem com a marca, nem com a cor do veículo. Soube também que um carro com exatamente aquelas características fora roubado em Glasgow, seis dias antes.
Mas, só depois de arrombar o Rover e seu porta-malas, os peritos descobriram o cadáver, já em decomposição, com uma perfuração de arma de fogo exatamente no meio dos olhos. A senhora Hardy confirmou. Um homem de óculos escuros. Isso mesmo, 60 anos, aproximadamente. Afastara-se do carro lenta e calmamente.
As digitais do homem assassinado confirmaram tratar-se de Jeffrey Rogers, detetive particular. Horace Bowie reconheceu ser o defunto a mesma pessoa que levara o cheque de 87 mil libras. As poucas impressões encontradas no carro pertenciam ao proprietário, em Glasgow, e seus familiares.
A Scotland Yard tinha apenas um par de óculos escuros, uma estatura média, 60 anos, sotaque estrangeiro. O sotaque poderia ser uma simulação. Alguns criminosos faziam-nas perfeitamente.
CAPÍTULO 101
Decorridos seis meses do atentado terrorista sob as águas do canal, tecnicamente os únicos culpados continuavam sendo os saxões radicais. Toda a cúpula do PRNS encontrava-se detida, aguardando julgamento. Mas, do homem de óculos escuros, nenhuma pista.
Tal como Clive Maugh estimara, nem o mercado nem a polícia sequer suspeitaram da participação do Centro-Europeu. Entre os membros do Comitê Diretor do Sindicato, somente Otto Behr sabia quem planejara o morticínio. Mas Otto preferira guardar segredo. Quanto menos pessoas soubessem, melhor.
Em Nova York, Bernard Davish e Alan Payne, ao contrário da maioria, suspeitavam seriamente do Sindicato. Quanto a Julius Clarence, este tinha convicção absoluta da culpa do Centro-Europeu.
Em Lausanne, Clive Maugh não entendia como Clarence e suas empresas haviam superado a queda das obrigações da Eurotunnel, decorrente da explosão. Sabia que o conglomerado, liderado pela Clarence & Associados, vendera grande parte de suas próprias ações, por preços baixíssimos, a centenas de milhares de acionistas, para fazer caixa. Mas, segundo as estimativas do inglês, tais vendas, por si só, seriam insuficientes para cobrir os prejuízos do grupo.
Alguma fonte externa, misteriosa, auxiliara Julius Clarence, emprestando-lhe grande quantidade de dinheiro. E Maugh não tinha a mínima idéia de quem seria. Nem mesmo Otto Behr, que aos poucos voltava a colaborar com o diretor de Operações, conseguia conjeturar quem poderia ter ajudado o magnata americano.
Mas Clive Maugh não desistia facilmente de seus objetivos. O Centro-Europeu lucrara uma fortuna com a queda das obrigações da Eurotunnel. Suas carteiras encontravam-se abarrotadas de dinheiro. Maugh passou a comprar nas bolsas de valores, e no mercado de balcão, ações da Clarence & Associados, do Banco Comercial de Manhattan, da cadeia de Lojas Bars, da Andromeda, da Vitalis e da Trans Atlantic.
Quando se certificou de que já possuía mais ações das empresas de Clarence do que o próprio, convocou-o para uma reunião em Paris. Julius aceitou o convite.
Se o inglês ambicionava controlar as empresas de Julius Clarence, este, de seu lado, dispunha-se a perder até o último centavo, se isso fosse necessário, para aniquilar o Sindicato e seu bando de assassinos.
Julius encontrava-se em Miami, presidindo uma reunião da Trans Atlantic Airways, quando recebeu o telefonema de Maugh, chamando-o para o encontro a dois. Conteve seu ódio. Em seu interior, já germinava a idéia de, junto com Mohamed Ahsan, exterminar para sempre o Centro-Europeu de Lausanne, mesmo que tivesse de levar suas empresas e o resto do mercado para o abismo junto com os suíços.
Enquanto voava de Miami a Paris, a bordo de um 747 da Trans Atlantic, Julius conheceu uma de suas aeromoças, Valérie Toulon.
A sucursal parisiense do Centro-Europeu localizava-se na Esplanade de La Défense. Em seu magnífico escritório, do qual poderia contemplar, se fosse de seu agrado, ao longe, o Arco do Triunfo e os Champs-Elysées, Clive Maugh encontrava-se extremamente nervoso. A ousadia do inimigo aceitando o confronto em seu próprio terreno o desconcertava.
Maugh vestia-se da única maneira que sabia. Terno azul-marinho, gravata da mesma cor, camisa branca. Apertou o colarinho, coisa que detestava. Mesmo possuindo todos os trunfos, sentiu-se inseguro, enquanto aguardava o instante de seu primeiro encontro com o arqui-rival.
Clarence identificou-se na recepção, sendo imediatamente conduzido à sala de Maugh. Ao contrário do inglês, estava calmo, a despeito da repugnância que nutria pelo outro. Vestia jeans, camisa esporte e blazer.
Quando a secretária abriu a porta e introduziu o americano em sua sala, o diretor do Sindicato levantou-se. Nenhum dos dois fez menção de dar a mão ao adversário. Clive limitou-se a indicar um conjunto de poltronas. Clarence encaminhou-se para lá, seguido pelo inglês. Não perderam nem um segundo com amenidades. Muito menos tentaram disfarçar o ódio.
– Achei inteligente de sua parte aceitar meu convite – começou Maugh. – Podemos, assim, economizar um bom dinheiro com advogados, em virtude do que tenho a lhe propor.
Julius emitiu um grunhido, que pareceu ao diretor do Sindicato uma sugestão para continuar falando. Foi o que fez.
– Disponho-me a oferecer 1 bilhão de dólares por suas ações da Clarence & Associados – Clive detestava pronunciar aquele nome – e de todas as empresas do conglomerado. Desde, é claro, que se demita imediatamente da direção.
– Infelizmente, não disponho de importância tão grande, cash, para rebater a oferta – Julius refutou. – Mas não vou aceitar. Nem mesmo sei por que vim até aqui. Se o senhor quer se apossar de meus negócios, que o faça através do mercado. Será uma luta desigual, tenho consciência disso. Mas que venha. Não entregarei minhas empresas a um assassino, um pervertido sexual, corruptor de adolescentes. Já sei o que me impeliu de Miami até aqui. Apenas a vontade, o prazer de, pessoalmente, mandá-lo tomar no rabo. Experimente, senhor Clive Maugh. Tenho certeza de que irá gostar.
Não esperou resposta. Enquanto o inglês excretava saliva, de raiva, Clarence retirou-se. Desceu um lance de escadas para pegar o elevador um andar abaixo. Não queria ficar nem mais um segundo no Centro-Europeu. Quando cruzou a portaria do prédio, pensava no encontro que marcara com uma de suas aeromoças. Já estava quase na hora.
CAPÍTULO 102
Julius Clarence sempre crescera nas crises. Por isso, apesar das circunstâncias que cercaram seu primeiro encontro com Valérie, em Paris, curtiu cada momento daquela noite. A vodca gelada, a música, o sexo ardente com que ela o envolvera.
Continuaram a encontrar-se. Em lugares diferentes. Sempre discretamente. Tendo já uma vaga idéia do que pretendia fazer consigo mesmo e com o mercado, Clarence preferiu assim. Embora estranhasse, Valérie não reclamou.
Clive Maugh, agora movido por um ódio epiléptico, prosseguiu comprando ações das empresas de Clarence. Mas, para sua surpresa, a posição não evoluía tão facilmente como imaginara. De algum lugar, Julius obtinha financiamento, raramente cedendo terreno.
Embora, a essa altura, possuísse menos ações de suas empresas que o Sindicato, Clarence representava, através de procurações, centenas de acionistas minoritários. Somando suas próprias ações às desses acionistas menores, ainda contava com mais votos que o Centro-Europeu. Nas assembléias de acionistas Bernard Davish representava Julius e os acionistas minoritários. Sabendo da posição de Bernard, Otto Behr procurou Clive Maugh.
Após a explosão no interior do Eurotunnel, Behr concluíra que seu colega, Clive Maugh, era demente. Mas não podia simplesmente denunciá-lo às autoridades. O diretor de Operações sabia de coisas suficientes para colocá-lo, e aos demais colegas, na cadeia pelo resto da vida.
– Uma proposta? – perguntou Maugh, desconfiado.
– Sim, uma proposta. Eu o ajudo a liquidar Julius Clarence. Em contrapartida, assim que isso acontecer, você renuncia à diretoria do Centro-Europeu. – Em nenhum momento, Otto se referiu à explosão do Eurostar, mas Maugh sabia que ele sabia.
– Digamos que eu aceite. Digamos que já esteja na hora de deixar o banco e cuidar de meu portfólio particular, quem sabe retornar à Inglaterra. O que tem em mente, Otto?
– Bernard Davish. Acho que posso conseguir sua cooperação. Rastreio seus passos há mais de 25 anos. Possui uma conta em Lugano, da qual nem Julius Clarence nem o Serviço Interno de Rendas americano têm conhecimento. Desde o início da crise do petróleo, em 1973, quando Davish dirigia o escritório de Clarence em Roterdã, ele desvia recursos do Banco Comercial de Manhattan para essa conta.
– E se ele, em vez de traí-lo, confessar tudo a Clarence?
– Tenho maneiras de persuadi-lo a não fazer isso. Ele irá colaborar conosco. Garanto.
Pelo olhar frio de Otto Behr, Clive Maugh percebeu que Bemard Davish não teria a menor opção. Restava apenas a decisão dele, Maugh.
– Terá a minha renúncia – respondeu afinal. – Tão logo o Centro-Europeu esteja de posse do controle do grupo de Clarence, deixarei o banco. – Semicerrou os olhos e pensou no americano insultando-o no escritório de Paris. Todos aqueles anos significavam para ele apenas um combate singular, ele contra Julius Clarence, na arena do mercado.
Bernard Davish desceu até a garagem de seu prédio para pegar o carro e ir a Greenwich, onde confessaria tudo a Julius. Explicaria a ele que a conta em Lugano fora aberta logo após a Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando ele, Davish, pensara que Clarence ficara louco ao comprar tanto ouro e petróleo por preços tão altos. Mas e os outros depósitos? Durante quase 30 anos, subtraíra sistematicamente dinheiro do Manhattan. E o Serviço Interno de Rendas? O emissário do Centro-Europeu fora claro. Se não colaborasse com eles, iria, irremediavelmente, para a cadeia.
Davish sentou-se ao volante. A cabeça latejava-lhe, as idéias vinham e iam em turbilhão. Subitamente, percebeu o envelope pardo no banco do carro, a seu lado. Abriu-o. O conteúdo não podia ser mais esclarecedor. Eram dezenas de fotos de suas filhas. Algumas em Boston, onde a mais velha fazia residência médica. Outras em Los Angeles, onde a mais moça trabalhava como roteirista.
Não, não podia arriscar a vida de suas filhas. Decidiu colaborar com o Sindicato.
Clarence não era um homem fácil de ser enganado. Era um predador atento, tal como Clive Maugh. Percebeu imediatamente a mudança no semblante de Bernard. Dava para sentir o cheiro da traição e do medo. Em outros tempos, teria confiado em Alan Payne. Mas não desta vez. Preferiu o paquistanês. Os dois passaram a controlar cada passo, cada atitude de Bernard. Verificaram que ele vinha traindo o conglomerado, transferindo o controle acionário para o Centro-Europeu.
A partir desse momento, Julius Clarence decidiu levar suas próprias empresas à falência e arrebentar com o mercado.
Cada segundo de sua vida era agora dedicado à nova tarefa. Ausentava-se nas horas certas, dando a Bernard campo livre de ação. Reunia-se por horas com o paquistanês, única pessoa em quem agora confiava.
Cuidou de cada detalhe pessoalmente. Um ano antes de quebrar o mercado, dispensou Teresa, Jesus, Antoine, vendeu a casa de Greenwich e o apartamento do parque. Finalmente, dispensou Diane, em quem tanto confiara e que nunca lhe faltara. Alan Payne foi embora para as Keys. Outros diretores do conglomerado, os mais antigos e chegados, também foram incentivados a se aposentar.
Clarence passou a morar exclusivamente na suíte. Uma empresa cuidava da arrumação. Um restaurante próximo entregava as refeições. A maioria de seus profissionais era agora desconhecida. Sua vida pessoal limitou-se a encontros furtivos com Valérie e horas intermináveis de reuniões com Mohamed Ahsan.
O paquistanês desenvolveu um sistema para sabotar as contas correntes do Banco Comercial de Manhattan, as centrais de compras da cadeia de Lojas Bars, da Vitalis e da Andromeda e o sistema de reservas de passagens da Trans Atlantic Airways. Implantou na rede de computadores da Clarence & Associados um intrincado programa pelo qual, numa quinta-feira de final de inverno, todas as ordens emitidas pela Clarence & Associados seriam invertidas, os lotes alterados. Finalmente, acessou o computador particular de Bernard Davish, descobriu o número de sua conta pessoal, num banco de Lugano, e sua losungswort.
A administração da Fundação Jessica Clarence foi transferida para o governo do Quênia. O Jessica Clarence Memorial Institute passou a ser dirigido pelo Instituto Pasteur, de Paris. Julius afastou-se de Claire e dos Beresford, estes agora morando no Kentucky.
As providências restantes foram tomadas na China, para onde Clarence viajou, por duas semanas, seis meses antes de quebrar o mercado. Não foi difícil convencer os chineses a ajudá-lo, em troca da permanência, para sempre, no país, do dinheiro do projeto Davenport, bloqueado por ocasião do escândalo da Commonwealth Constructions.
O grande cirurgião plástico chinês doutor Chen Wu-tah, especialista em queimados, indicou o professor Tartuf Zardil. Era o único no mundo que poderia mudar-lhe – se fosse necessário – a cor dos olhos. O doutor Wu-tah supervisionou, pessoalmente, a compra dos equipamentos cirúrgicos.
O mais difícil foi conseguir uma identidade. Alguém a quem Julius pudesse substituir. Surgiu, então, Jack Palmer, um agrônomo neozelandês da ONU, um tipo celibatário que sofrera um traumatismo cranioencefálico fatal, num acidente em Xangai, exatamente em seu primeiro dia de aposentadoria, quando se preparava para deixar a China e mudar-se para a ilha de Saint-Barthélemy, no Caribe.
O doutor Chen, que já examinara vários cadáveres, concluiu que os dados anatômicos de Palmer se compatibilizavam com os de Julius Clarence. Registrado cada detalhe de seu corpo, Palmer foi cremado. Os registros foram enviados à clínica do professor Tartuf Zardil, em Anderlecht, acondicionados nas embalagens dos aparelhos médicos adquiridos pelos chineses.
Foram também os chineses que forjaram as duas identidades intermediárias: o italiano Servulo Anicetto, cujo nome Julius usaria para deixar Nova York usando um passaporte com sua própria foto na qual a barba e o bigode foram subtraídos com o auxílio de um computador –, e o canadense Peter Miller, cujo nome Clarence usaria para viajar de Bruxelas à China. Cinco dias antes de Julius arrasar com o mercado, os documentos de Peter Miller foram remetidos para um guarda-volumes da Gare du Nord, em Bruxelas. A chave foi enviada ao magnata, em NovaYork.
Uma quantidade de dinheiro suficiente para Jack Palmer viver confortavelmente o resto de seus dias foi remetida da China para Saint-Barthélemy. Ótimo negócio para os chineses. O sumiço de Julius Clarence deixar-lhes-ia para sempre os recursos do projeto Davenport, agora transformado em Fundo Davenport.
As últimas providências foram tomadas pelo próprio Clarence. Disfarçado com um curativo cirúrgico, comprou as passagens em San Diego. A barba e o bigode postiços, em Los Angeles.
CAPÍTULO 103
Clarence apertou o botão do subsolo e seu elevador privativo começou a descer, na velocidade vertiginosa de sempre, os 240m que o separavam da garagem, 80 andares abaixo.
Sua última providência, antes de abandonar, para sempre, a suíte da Liberty Tower, fora ligar para Francine e agradecer-lhe por tudo. Sem ela, sem a sua formidável ajuda financeira, jamais teria conseguido repor as perdas decorrentes da explosão do Eurostar e, mais tarde, competir com Clive Maugh na compra de ações da Clarence & Associados e das outras empresas. Sem o apoio logístico do setor de informações da Midi-Pyrénées, nunca os chineses teriam localizado Tartuf Zardil, obtido as identidades intermediárias para Julius Clarence e preparado o terreno para o golpe mortal que Julius infligiria, naquele final de tarde de inverno, ao Sindicato.
Francine desejou-lhe boa sorte. Nos próximos dias, Julius lhe assegurara, e ele nunca errava nessas coisas de dinheiro, a Midi-Pyrénées ganharia uma fortuna. Sim, porque os administradores do Fundo Davenport, da China, onde Francine aplicara todas as suas reservas, eram os únicos operadores do mundo que sabiam exatamente o que iria acontecer com os mercados nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, assim que Julius Clarence escapulisse da Liberty Tower e deixasse o mercado órfão de seu incomparável talento.
O Fundo Davenport, sediado em Hong Kong, cidade que voltara a pertencer aos chineses desde julho de 1997, estava prestes a dar uma das maiores tacadas do mercado em todos os tempos. O fundo encontrava-se violentamente alavancado, comprado em iene japonês, marco alemão, ouro e petróleo. Por outro lado, estava vendido, a descoberto, nas principais bolsas de valores do mundo e no mercado de obrigações do Tesouro americano.
Finalmente, o prisioneiro começou a ceder. Depois de duas semanas de interrogatório, Alicio Garcia concordou em falar, desde que apagassem os possantes refletores direcionados diretamente a seus olhos.
O brigadeiro argentino fora pego pela Scotland Yard por pura sorte. Sorte da polícia. Muito azar, e um pouco de estupidez, da parte dele. Não fosse a sensação de eterna impunidade que cerca alguns militares sul-americanos, jamais teria viajado para Londres. Jamais teria se protegido do sol com óculos escuros. Pois foi assim que o antigo especialista em seguros, Horace Bowie, reconheceu o brigadeiro, quando este fazia compras, numa radiante manhã de domingo, no mercado de Camden Town, lugar onde Bowie costumava armar sua modesta barraca de roupas usadas.
Alicio sabia que estava liquidado. Por isso, contou tudo.
– Quando o senhor deixou a Argentina? – O investigador do CID ligou o gravador e virou a cadeira ao contrário, apoiando-se ao encosto, como nos filmes.
– Saí quando o Congresso argentino votou a anistia. Punto Final, é assim que a lei foi chamada.
– Onde o senhor foi morar quando saiu de seu país?
– Em Paris. Aluguei um apartamento na Avenue Kléber.
– Foi trabalhar na Midi-Pyrénées, certo?
O brigadeiro começou a sentir o alívio que os criminosos sentem quando confessam.
– Trabalhei durante cinco anos. Depois, a senhora Kéraudy soube dos... bem... dos vôos. – O brigadeiro fora sumariamente dispensado da Midi-Pyrénées quando a Anistia Internacional divulgou que ele comandara os vôos da morte.
O interrogador conteve o desprezo. Ofereceu-lhe um cigarro. O militar recusou. Pensou melhor. Agora não fazia diferença. Aceitou um, deu uma tragada e sentiu-se tonto.
– Os vôos nos quais os sediciosos eram eliminados – prosseguiu.
– E o que fez o senhor após sair da Midi-Pyrénées?
– Nada. Continuei morando em Paris, até ser chantageado pelo inglês do Banco Centro-Europeu de Lausanne. Frisou o “inglês”, causando visível desconforto ao policial.
– Ah... Que tipo de chantagem o senhor sofreu? – recuperou-se o interrogador.
– O senhor Maugh, é o nome do inglês – repetiu – do Centro-Europeu, ameaçou denunciar-me a meus companheiros. Disse que eu trapaceava na hora de distribuir o dinheiro da conta. Uma conta que tínhamos, muito antes de eu trabalhar com a Midi-Pyrénées.
– E o senhor trapaceav... Bem, isso não importa. Que ordens o senhor recebeu de Clive Maugh?
– Fui incumbido de contratar os ingleses do PRNS – acentuou novamente “ingleses”, para grande irritação do agente da lei.
– Sim, sim, eu sei. Contratar para quê?
– Para colocar a bomba no trem.
– E onde o senhor obteve a bomba?
– Comprei no armazém. Isto é, eu mesmo a fiz. Comprei os ingredientes no comércio. Nitrato de amônio e óleo diesel. Qualquer um pode fazer isso. Quanto ao cartucho de dinamite, eu tinha um em casa. Desde a época em que... Acho que isso também não tem mais importância.
CAPÍTULO 104
A Midi-Pyrénées foi uma das poucas instituições a lucrar com a crise detonada por Julius Clarence. Mas Francine Kéraudy não reaplicou o dinheiro na própria empresa. Vinha procurando, nos últimos anos, diversificar seus negócios. Já não se sentia tão à vontade, como antes, vendendo mísseis a qualquer um que se dispusesse a comprá-los.
Não poderia investi-lo com Julius, como sempre o fizera desde a morte do pai. Seria perigoso para ele, caso o procurasse. Apenas ela e Claire sabiam que Julius se encontrava em Saint-Barth com Valérie.
Após o crash das bolsas, os ativos do Fundo Davenport, na China, transformaram-se em imensa fortuna. Mesmo assim, a parte de Julius Clarence permanecia lá, pois ele não existia mais.
Em Saint-Barth, Jack Palmer contentava-se com seu patrimônio, uma quantia razoável de dinheiro, que proporcionaria a ele e Valérie uma vida folgada, embora nada comparável àquela que o magnata de Iowa, Julius Clarence, poderia ter almejado para sua velhice.
Mas o mercado é algo que nasce, cresce e morre com as pessoas. Jack já se encontrava há alguns anos em Saint-Barthélemy. Abrira uma conta em um banco. Passou a fazer, eventualmente, um negócio aqui, outro ali. Finalmente, não resistiu. Em uma noite de domingo, procurou os mercadores da noite. Fernando Rabal, da Cidade do México, e Mislav Soudendijk, de Vancouver, haviam morrido. Jacques Constantine, de Paris, e Christian Blaeu, de Amsterdã, estavam aposentados.
Palmer falou com Leander Van Deer, na Cidade do Cabo, e com Jack West, em sua cabana no monte Hood, os dois ainda na ativa. West deveria estar com mais de 75 anos, pensou Jack, ao apresentar-se como um velho neozelandês que operava lotes pequenos, apenas para manter o hábito. West ficou satisfeito. Também gostava de negociar quantidades menores.
– Como opera a Giant? – perguntou o mercador solitário, servindo-se de café. A noite estava fria nas montanhas.
– Vendo 100 ações a 15. – Jack ouvia o barulho das ondas e um chiado vindo da cozinha, onde Valérie fritava camarões.
– Fechado. Como você quer que eu liquide?
– Mando o certificado de custódia das ações pelo correio. Pode me mandar o cheque pelo correio também. Espere que vou passar-lhe o endereço. Vivo aqui em Saint-Barthélemy. Sim, fica no Caribe. Isso mesmo. Quer fazer mais alguma coisa?
– Não, obrigado. Preciso aquecer a lareira. Está quase se apagando.
Depois do jantar, Palmer saiu para caminhar com Valérie. Foram até a enseada de Lorient. Contou a ela como Francine o salvara em seu momento mais crítico.
O inverno se aproximava. Com ele, a alta temporada. A lua cheia iluminava as pequenas vagas, derramando-se em direção à areia da praia. Uma onda mais audaciosa veio molhar-lhes os pés. Jack pensou em Claire, em Francine, em Jessica. Nunca fora traído por nenhuma de suas mulheres.
Pensou no velho Salomon Abramovitch. Lembrou-se de sua figura arqueada, enquanto cruzavam, o velho e o menino de Davenport, as planícies do Meio-Oeste. Nenhum homem pode perder mais do que tem – sempre dissera. Lembrou-se de Abdul al-Kabar.
Mas, enquanto sentia a água morna do Caribe, Palmer lembrou-se principalmente do doutor Chen Wu-tah. Especialmente do momento em que o cirurgião chinês lhe entregara o frasco contendo sêmen congelado, punçado dos testículos de Jack Palmer, enquanto o coração do agrônomo neozelandês ainda batia, mas sua morte cerebral já se consumara. “Meu presente para o homem que vai ressuscitar”, dissera o doutor Wu-tah.
Só agora, ao ver a barriga enorme e arredondada de Valérie, Julius compreendia quanto queria aquele herdeiro, filho legítimo de sua nova identidade. Por isso, voltava lentamente ao mercado, com lotes pequenos, só para manter a forma. Haveria de ensinar, a ele ou a ela, todas as magias, faria com que compreendesse todo o fascínio da profissão dos mercadores de dinheiro.
Não importava que seu dinheiro estivesse perdido para sempre na China. Seu filho teria de começar do zero, tal como ele começara, numa noite de 4 de julho, em Davenport. Talvez seu herdeiro quisesse ser apenas um pescador, uma pessoa simples, amante do mar e da natureza, como a mãe. Mas, se desejasse ser um dos mercadores da noite, ele teria o privilégio de ensinar-lhe como subir, um a um, cada degrau da escada do mercado. Mas faria questão de dizer, tal como Salomon Abramovitch, que o dinheiro não tinha a menor importância. Era apenas o marcador daquele jogo interminável.
Agora, com o começo da velhice, tornara-se um romântico sentimental, tal como Jessica sempre dissera que haveria de se tornar.
Mas sentia ainda, latente, o homem de gelo do pit de trigo da Bolsa de Chicago. Por isso, estava começando a arriscar o capital de que ainda dispunha. Precisaria contar com um pouco de sorte, mas Julius Clarence, em toda a sua vida, jamais temera arriscar a sorte.
Ivan Sant’Anna
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















