



Biblio VT
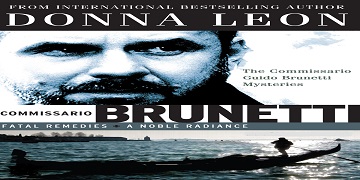
Series & Trilogias Literarias




O cadáver estava boiando de bruços na água turva do canal. A vazante o arrastava lentamente em direção à amplitude da laguna que se espraiava além da barra. A cabeça bateu algumas vezes nos degraus limosos da amurada em frente à Basílica de San Giovanni e Paolo, enroscou-se um momento, mas não tardou a se afastar quando os pés, num delicado movimento dançante, traçaram um arco que a desprendeu, e o corpo voltou a se deslocar rumo à vastidão e à liberdade.
Os sinos da igreja badalaram quatro da madrugada, e, como que obedecendo a uma ordem do campanário, as águas se acalmaram.
Pouco a pouco, foram serenando ainda mais, até atingir aquele estado de extrema quietude que separava as marés, quando as águas se detinham à espera do novo fluxo para iniciar o trabalho cotidiano. Colhida pela calmaria, a forma inerte oscilou na superfície, invisível na sua roupa escura. O tempo passou em silêncio, até que dois transeuntes o quebrassem com uma conversa em voz baixa, repleta da sibilância do dialeto veneziano. Um deles ia empurrando um carrinho abarrotado de jornais para começar o dia em sua banca; o outro estava a caminho do trabalho no hospital, que ocupava todo um lado do extenso campo aberto.
Na laguna, um barquinho passou devagar, erguendo pequenas ondas que encresparam o canal e brincaram com o cadáver, empurrando-o uma vez mais para junto da parede da barragem.
Quando os sinos anunciaram cinco horas, uma senhora, numa das casas que davam para o canal, em frente ao campo, abriu as venezianas verde-escuras da cozinha, mas logo se virou para abaixar o fogo do café. Ainda não totalmente desperta, pôs açúcar numa xícara pequena, apagou o fogo com um hábil movimento do pulso e se serviu. Segurando a xícara com as duas mãos, retornou à janela e, fiel a um costume de décadas, olhou para o outro lado, para a enorme estátua eqüestre de Colleoni, outrora um dos mais temíveis chefes militares venezianos, agora o seu vizinho preferido. Para Bianca Pianaro, aquele era o momento mais sereno do dia; e Colleoni, havia séculos fundido no eterno silêncio do bronze, a companhia perfeita para os seus preciosos e secretos quinze minutos de paz.
Satisfeita com o calor penetrante do café, ela o sorveu observando os pombos que já começavam a pousar em bandos no pedestal da estátua. Olhou distraída para baixo, onde a água verde-escura fazia oscilar o pequeno barco de seu marido. Chovera à noite, e convinha verificar se o encerado que o cobria continuava no lugar. Se tivesse se soltado com o vento, Nino precisaria descer e esvaziar a embarcação antes de ir trabalhar. Ela se debruçou na janela para examinar a proa. No primeiro momento, achou que era um saco de lixo que a maré noturna trouxera da barragem. Mas a forma era estranhamente simétrica, alongada, com dois apêndices que se projetavam em ambos os lados do tronco, quase como se fosse...

“Oh, Dio”, exclamou a mulher, deixando a xícara cair lá embaixo, não muito longe do estranho volume que flutuava de borco. “Nino, Nino”, gritou, voltando-se para o quarto. “Há um cadáver no canal.”
Foi exatamente essa notícia, “Há um cadáver no canal”, que acordou Guido Brunetti vinte minutos depois. Apoiando-se no ombro esquerdo, ele pegou o telefone e o colocou no colchão.
“Onde?”
“Na San Giovanni e Paolo, senhor, em frente ao hospital”, respondeu o policial que, tendo recebido a notificação, telefonara imediatamente.
“O que aconteceu? Quem o encontrou?”, perguntou Brunetti, sentando-se na beira da cama.
“Não sei, senhor. Um sujeito chamado Pianaro ligou avisando.”
“Então por que você me telefonou?” Brunetti não tentou dissimular a irritação ao ver a hora estampada no painel luminoso do relógio no criado-mudo: 5h31. “E o pessoal do plantão noturno onde está?”
“Foi todo mundo embora, senhor. Eu liguei para Bozzetti, mas a mulher dele disse que ele ainda não chegou.” Enquanto falava, o rapaz ia ficando com a voz mais hesitante. “Por isso telefonei, porque sei que o senhor está no próximo turno.” O qual só começaria dali a duas horas e meia, pensou Brunetti, mas nada disse.
“Alô, o senhor ainda está na linha?”
“Estou, estou. E são cinco e meia.”
“Eu sei, comissário. Mas não consegui localizar mais ninguém.”
“Tudo bem. Tudo bem. Eu vou até lá dar uma olhada. Mande uma lancha para cá. Já.” Brunetti se lembrou da hora e de que o pessoal do turno da noite já havia encerrado o expediente. “Há alguém que possa vir me buscar?”
“Sim, senhor. Bonsuan já chegou. Quer que eu o mande?”
“Quero, imediatamente. E telefone para o meu pessoal. Quero todo mundo lá.”
“Sim, senhor”, respondeu o jovem policial, claramente aliviado por ter achado alguém que se encarregasse do problema.
“E ligue para o doutor Rizzardi. Peça-lhe que vá para lá o mais depressa possível.”
“Sim, senhor. Mais alguma coisa?”
“Não. Só isso. Mas mande logo essa lancha. E diga para os meus homens interditarem a área, se eles chegarem antes de mim. Não quero que ninguém se aproxime do cadáver.” Naquele exato momento, enquanto eles conversavam, quantas provas não deviam estar sendo destruídas, pontas de cigarro no chão, gente arrastando os pés na calçada? Sem mais nenhuma palavra, Brunetti desligou.
Paola se virou ao seu lado e o espiou com um só olho, usando o braço nu para proteger o outro da luz. Resmungou qualquer coisa que ele, graças à longa experiência, entendeu ser uma pergunta.
“Um cadáver. No canal. Eles estão vindo me buscar. Eu telefono mais tarde.” A resposta que obteve foi um grunhido afirmativo. Pondo-se de bruços, ela adormeceu imediatamente, decerto a única pessoa na cidade que não estava interessada no cadáver boiando num dos canais.
Brunetti se vestiu às pressas e, sem pensar em fazer a barba, foi para a cozinha ver se ainda dava tempo de tomar um café. Tirou a tampa do Moca Express e achou um resto da noite anterior. Embora tivesse horror a café requentado, despejou-o numa panelinha, acendeu o fogo alto e, encostando-se no fogão, ficou esperando que esquentasse. Então verteu o líquido quase viscoso numa xícara, acrescentou três colheres de açúcar e bebeu de um só gole.
A campainha tocou, anunciando a chegada da lancha da polícia. Ele consultou o relógio. Faltavam oito para as seis. Só podia ser Bonsuan; ninguém era capaz de chegar tão depressa de barco. Pegou o paletó de lã no armário junto à porta da rua. As manhãs de setembro costumavam ser frias, e sempre ventava em San Giovanni e Paolo, tão próxima das águas espraiadas da laguna.
Brunetti desceu os cinco lances de escada, abriu a porta do prédio e deu com Puccetti, um recruta com menos de cinco meses de polícia.
“Buon giorno, signor commissario”, cumprimentou-o o rapaz, batendo continência com um movimento mais exagerado e ruidoso do que convinha àquela hora.
Brunetti respondeu com um aceno e saiu à calle estreita em que morava. Viu a lancha atracada junto à escada, a luz azul a piscar compassadamente. Reconheceu ao volante o piloto Bonsuan, em cujas veias corria o sangue de incontáveis gerações de pescadores de Burano — sangue certamente misturado com as águas da laguna —, tão íntimo das marés e das correntes que era capaz de percorrer os canais da cidade de olhos fechados.
Atarracado e de barba cerrada, Bonsuan o recebeu com um gesto breve que tanto podia se referir à hora quanto à presença do superior a bordo. Puccetti saltou ao convés, juntando-se aos dois policiais fardados que lá estavam. Um deles soltou o calabre, e o piloto recuou rapidamente para o Canale Grande e, com uma guinada brusca, tomou o rumo da ponte de Rialto. Depois de passar por baixo dela, entrou à direta, num canal de mão única. A seguir, virou à esquerda e novamente à direita. Brunetti ia de pé no convés, a gola do paletó erguida para se proteger do vento e do frio da manhã. Em ambas as margens dos canais, os barcos atracados balançavam à passagem da lancha, e os outros, vindos de San Erasmo, carregados de frutas e verduras frescas, punham-se a um lado e comprimiam-se junto aos prédios, ao surgir o brilho da luz azul.
Por fim entraram no rio dei Mendicanti, o canal que corria na lateral do hospital e desaguava na laguna, bem em frente ao cemitério. Com toda a certeza, a proximidade deste com o hospital era obra do acaso; entretanto, para a maioria dos venezianos, sobretudo para os que tinham sobrevivido a uma internação no hospital, a localização do cemitério era um silencioso comentário sobre a competência dos médicos.
Aproximadamente no centro do canal, à direita, Brunetti avistou um pequeno grupo de curiosos à beira da amurada. Bonsuan parou a lancha a cinqüenta metros do aglomerado, na tentativa totalmente vã de preservar as evidências existentes no local.
Um dos policiais se aproximou da embarcação e estendeu a mão para ajudar Brunetti a desembarcar. “Buon giorno, signor commissario. Nós já o tiramos da água, mas, como o senhor pode ver, temos companhia.” Apontou para as nove ou dez pessoas ao redor de uma coisa no chão, a qual ele não pôde ver justamente porque estava encoberta pela pequena multidão.
O policial voltou a se aproximar dos curiosos, dizendo enquanto caminhava: “Muito bem, para trás. Polícia”. Reagindo mais à aproximação dos dois do que à voz de comando, as pessoas recuaram alguns passos.
Então Brunetti viu um rapaz estendido de costas na calçada, os olhos abertos para a luz da manhã. Ao seu lado, dois policiais com a farda molhada até os ombros. Ao ver o comissário, bateram continência. Quando baixaram os braços, a água começou a escorrer de suas mãos. Ele os reconheceu, Luciani e Rossi, dois dos seus melhores homens.
“Que houve?”, perguntou, olhando para o morto.
Luciani, o mais velho, respondeu. “Quando nós chegamos, ele estava boiando no canal, dottore. O dono daquela casa telefonou avisando.” Apontou para um edifício ocre do outro lado do canal. “Foi a mulher dele que o viu.”
Brunetti se voltou para o prédio. “Quarto andar”, esclareceu o outro. Ele ergueu os olhos a tempo de ver de relance um vulto afastando-se da janela. Ao examinar o edifício indicado e os vizinhos, reparou em várias sombras escuras nas janelas. Algumas desapareceram ao perceber que estavam sendo observadas, outras não.
Brunetti tornou a encarar Luciani e lhe fez sinal para que prosseguisse. “O corpo estava perto dos degraus, mas foi preciso entrar na água para tirá-lo. Eu o deitei de costas. Ia tentar reanimá-lo. Mas vi que não adiantava, senhor. Parece que já faz tempo que morreu.” Foi uma espécie de pedido de desculpas: quase como se, por não haver conseguido ressuscitar o rapaz, ele tivesse contribuído para a irreversibilidade de sua morte.
“Já examinaram o corpo?”
“Não, senhor. Quando vimos que não dava para fazer nada, achamos melhor esperar o médico.”
“Ótimo, ótimo”, murmurou Brunetti. Luciani estremeceu, talvez de frio, talvez por reconhecer seu fracasso, e novas gotas de água caíram na calçada a seus pés.
“Vocês dois voltem já para casa. Tomem um banho, comam um pouco. E bebam algo quente.” Os policiais sorriram com gratidão. “E peguem a lancha. Bonsuan vai levá-los. Os dois.”
Os homens agradeceram e abriram caminho na multidão, que aumentara consideravelmente após a chegada de Brunetti. Este chamou um dos policiais que haviam ido com ele na lancha e disse: “Tire essa gente daqui, mas pegue o nome e o endereço de todo mundo. Eu quero saber a que hora cada um chegou e se alguém ouviu ou viu alguma coisa estranha esta madrugada. Depois mande-os embora”. Tinha verdadeiro horror aos urubus que se aglomeravam onde havia cadáveres; nunca entenderia o fascínio que tanta gente sentia pela morte, principalmente quando era violenta.
Tornou a examinar a fisionomia do jovem no chão, agora objeto de muitos olhares impiedosos. Era um homem bonito, de cabelo loiro e curto, algo escurecido pela água, que continuava se empoçando junto dele. Tinha olhos claros, muito azuis, rosto simétrico, nariz estreito e fino.
Brunetti ouviu os policiais, às suas costas, tentando dispersar a multidão. Chamou Puccetti e, sem fazer caso da nova saudação do rapaz, ordenou: “Vá para o outro lado do canal e pergunte se alguém, naquelas casas, viu ou ouviu alguma coisa”.
“A partir de que hora, senhor?”
Ele refletiu um instante, considerando a fase da lua. A lua nova tinha começado duas noites antes: as marés não deviam estar fortes ao ponto de arrastar o corpo a uma grande distância. Seria preciso consultar Bonsuan sobre a da noite anterior. As mãos do morto estavam estranhamente enrugadas e brancas, sinal inconteste de que ele ficara muito tempo na água. Logo que soubesse quantas horas fazia que o homem estava morto, mandaria Bonsuan calcular a distância que teria percorrido ao ser arrastado pelas águas. E de onde viera. Até lá, só contava com Puccetti. “A qualquer hora da noite de ontem. E cerque a área. Mande essa gente embora se puder.” A chance era mínima, ele sabia. Raramente Veneza oferecia um espetáculo desse gênero aos cidadãos, e ninguém queria perdê-lo.
Ouviu o barulho de uma embarcação se aproximando. Outra lancha branca da polícia, a luz azul a pulsar, entrou no canal e atracou no mesmo embarcadouro que Bonsuan havia usado. Também trazia três homens fardados e um à paisana. Como girassóis, os curiosos desviaram o rosto do sol de sua atenção, o morto, e giraram na direção dos recém-chegados, que saltaram da lancha e se aproximaram.
À frente deles vinha o dr. Ettore Rizzardi, o médico-legista do município. Indiferente aos olhares de que era objeto, acercou-se de Brunetti e lhe apertou a mão amistosamente. “Buon dì, Guido. Que houve?”
Brunetti afastou-se para que ele visse o que jazia a seus pés. “Estava no canal. Luciani e Rossi o tiraram da água, mas não deu para fazer nada. Luciani tentou reanimá-lo, mas já era tarde.”
Rizzardi fez um gesto afirmativo e soltou uma espécie de grunhido. A pele enrugada das mãos do cadáver confirmava que a polícia chegara tarde demais para socorrê-lo.
“Tudo indica que ele ficou muito tempo aí, Ettore. Mas só você pode avaliar com certeza.”
Tomando o elogio como a coisa mais natural do mundo, o médico concentrou a atenção no cadáver. À medida que se inclinava sobre o corpo, o murmúrio da multidão se tornava mais sibilante. Sem se importar com isso, Rizzardi colocou cuidadosamente a maleta num lugar seco, perto do corpo, e se agachou.
Brunetti deu meia-volta e foi na direção daquilo que agora constituía a primeira fila de espectadores.
“Quem já deu o nome e o endereço pode ir embora. Não há mais nada para ver.” Um velhote de barba grisalha se inclinou bruscamente para o lado, desviando-se dele, para espiar o que o médico estava fazendo com o defunto. “Eu já disse que é para ir embora.” Brunetti falou diretamente com o velho. Este endireitou o corpo, olhou para ele sem o menor interesse e tornou a se debruçar, preocupado unicamente com o legista. Uma senhora idosa puxou com irritação a coleira de seu terrier e recuou, visivelmente ultrajada com mais aquela demonstração de brutalidade policial. Os homens fardados circulavam devagar em meio à multidão, afastando delicadamente as pessoas com palavras ou gestos, obrigando-as, pouco a pouco, a se dispersar e a deixar a área livre para a polícia. O último a se afastar foi o velhote barbudo, que retrocedeu somente até o gradil de ferro que cercava o pedestal da estátua de Colleoni, onde se encostou, recusando-se a sair do campo ou a abrir mão dos seus direitos de cidadão.
“Guido, venha cá um pouco”, pediu Rizzardi, às suas costas.
Brunetti voltou para junto do médico, que, ajoelhado, estava segurando a camisa do morto. E viu, cerca de vinte centímetros acima da cintura deste, do lado esquerdo, um corte horizontal de bordas irregulares, a carne estranhamente acinzentada. Ajoelhou-se numa poça gelada para ver de perto. A incisão tinha mais ou menos o tamanho do seu polegar e agora, certamente por causa da prolongada imersão, estava aberta e, curiosamente, sem o menor vestígio de sangue.
“Não é um turista bêbado que caiu no canal, Guido.”
Brunetti balançou a cabeça, concordando. “O que teria provocado um ferimento como esse?”, perguntou, apontando para o corte.
“Uma faca. De lâmina larga. E quem a usou era muito bom ou teve muita sorte.”
“Por quê?”
“Não quero especular muito, só quando eu puder abri-lo e examinar isso direito”, respondeu Rizzardi. “Mas se o ângulo for o certo, e tudo indica que é, ele foi atingido diretamente no coração. Nenhuma costela no caminho. Nada. Bastou um empurrãozinho, o mínimo de pressão e, pronto, estava morto. Ou o assassino é muito bom, ou teve muita sorte”, repetiu.
Brunetti só podia ver a largura do corte; não tinha a menor idéia da trajetória da arma no interior do corpo. “Não pode ter sido outra coisa? Quer dizer, além de uma faca?”
“Certeza eu só vou ter depois de examinar o tecido interno, mas duvido.”
“E afogamento? Caso o coração não tenha sido atingido, ele pode ter se afogado?”
Rizzardi se acocorou, tomando o cuidado de erguer a capa para mantê-la longe da poça. “Duvido. Se o coração não tivesse sido atingido, o estrago não seria suficiente para impedi-lo de sair da água. Veja como está pálido. Acho que foi isso mesmo. Um único golpe. No ângulo certo. A morte deve ter sido quase instantânea.” Levantou e ofereceu ao morto a coisa mais próxima de uma oração que ele receberia aquela manhã. “Coitado. Um belo rapaz e em excelente forma física. Eu diria que era atleta ou pelo menos cuidava muito do corpo.” Tornou a se curvar e, com um gesto quase paternal, passou a mão nos olhos do cadáver, tentando fechá-los. Uma das pálpebras se recusou a descer. O outro olho se fechou um instante, mas voltou a se abrir lentamente e encarou o céu. Rizzardi resmungou alguma coisa, tirou um lenço do bolso do paletó e cobriu o rosto do rapaz.
“Isso mesmo, cubra-o. Ele morreu moço.”
“Como?”, perguntou o médico.
Brunetti deu de ombros. “Nada. É uma coisa que Paola costuma dizer.” Desviou os olhos do cadáver e, por um instante brevíssimo, fitou-os na fachada da basílica, deixando que a simetria o acalmasse. “Quando você vai poder me dar algo mais concreto, Ettore?”
O médico consultou rapidamente o relógio. “Se os seus garotos o levarem para o cemitério agora, eu começo a trabalhar nele ainda de manhã. Se você telefonar depois do almoço, já vou ter uma informação mais exata. Mas não creio que haja dúvidas, Guido.” Hesitou, não queria ensinar a Brunetti o trabalho dele. “Você não vai examinar os bolsos?”
Embora tivesse feito isso muitas vezes em sua carreira de policial, ele detestava aquela primeira invasão da privacidade do morto, aquela primeira e terrível imposição do poder do Estado à paz dos falecidos. Não gostava de vasculhar diários e gavetas, de folhear cartas, de mexer em roupas alheias.
Mas, como o corpo já tinha sido retirado do lugar onde o encontraram, não havia por que mantê-lo intacto até que o fotógrafo registrasse sua posição exata. Agachando-se junto ao rapaz, enfiou a mão no bolso da calça. Achou algumas moedas no fundo e as colocou no chão. No outro bolso havia um aro simples de metal com quatro chaves. Sem que Brunetti pedisse, Rizzardi se curvou para ajudá-lo a virar o corpo de lado e revistar os bolsos traseiros. Num deles havia um retângulo amarelo ensopado, evidentemente um bilhete de trem; no outro, um lenço de papel igualmente encharcado. Brunetti fez um sinal para o legista, e ambos tornaram a baixar o cadáver ao chão.
Pegou uma das moedas e a mostrou a Rizzardi.
“Que é isso?”, perguntou.
“Dinheiro americano. Vinte e cinco centavos de dólar.” O tipo de coisa esquisita de se encontrar no bolso de um morto em Veneza.
“Ah, talvez seja isso. Um americano.”
“O quê?”
“Ora, esse rapaz está em ótima forma física”, respondeu o legista, totalmente inconsciente da amarga incongruência do tempo verbal. “A explicação pode ser essa. Eles sempre estão em forma, são muito sadios.” E os dois olharam para o corpo, para a cintura fina que aparecia sob a camisa ainda aberta.
“Se for americano”, Rizzardi completou, “os dentes me dirão.”
“Como assim?”
“Por causa do trabalho odontológico. É uma técnica diferente, o material que eles usam é melhor. Se ele tiver uma restauração, à tarde eu digo se é americano ou não.”
Se Brunetti fosse outro, teria pedido ao médico que desse uma olhada ali mesmo, mas não havia motivo para pressa, e não valia a pena perturbar uma vez mais aquele rosto jovem. “Obrigado, Ettore. Vou mandar o fotógrafo tirar algumas fotos. Será que você consegue fechar os olhos dele?”
“Claro que consigo. Vou fazer o possível para que ele fique mais ou menos como era. Mas, para as fotografias, é preferível que esteja de olhos abertos, não?”
Brunetti esteve a ponto de responder que preferia que aqueles olhos nunca mais voltassem a se abrir, mas disse:“Sim, sim, claro”.
“E não esqueça de mandar alguém colher as impressões digitais, Guido.”
“Pode deixar.”
“Está bem. Então me telefone lá pelas três.” Trocaram um rápido aperto de mão, e o dr. Rizzardi pegou a maleta. Sem dizer mais nada, atravessou o espaço aberto que dava no suntuoso portal do hospital. Ia começar a trabalhar duas horas mais cedo.
Outros policiais haviam chegado enquanto eles examinavam o cadáver, e agora deviam ser oito os que formavam uma barreira em arco a uns três metros do cadáver. “Sargento Vianello”, chamou Brunetti. Um deles saiu da linha de contenção e se aproximou.
“Pegue dois homens, ponham o corpo na lancha e levem-no ao cemitério.”
Enquanto os subordinados executavam a ordem, ele tornou a contemplar a fachada da basílica, passando os olhos por suas torres altas. Desviou-os para o outro lado do campo, para a estátua de Colleoni, talvez uma testemunha do crime.
Vianello retornou. “Já foi para o cemitério, senhor. Mais alguma coisa?”
“Sim. Há um bar aqui por perto?”
“Ali, senhor, atrás da estátua. Abre às seis.”
“Ainda bem. Eu preciso de um café.” A caminho do bar, Brunetti começou a dar ordens. “Vamos precisar de mergulhadores, de preferência dois. Mande-os vasculhar a área onde o corpo foi encontrado. Quero que peguem tudo que possa ter servido de arma: uma faca com lâmina de mais ou menos três centímetros de largura. Mas pode ser outra coisa, um pedaço de metal, sei lá. Mande-os trazerem qualquer coisa que possa abrir uma ferida assim. Ferramentas, o que for.”
“Sim, senhor”, disse Vianello, tentando escrever no bloco de anotações enquanto caminhava.
“À tarde, o doutor Rizzardi vai nos dar a hora exata da morte. Assim que essa informação chegar, quero falar com Bonsuan.”
“Por causa da maré, senhor?”, perguntou Vianello, compreendendo imediatamente.
“É. E comece a telefonar para os hotéis. Veja se alguém deu pela falta de um hóspede, principalmente americano.” Ele sabia que os homens detestavam aquele trabalho, as intermináveis ligações para os hotéis, páginas e páginas de números de telefone na lista da polícia. E, quando isso terminasse, ainda havia as pensões e as pousadas, muitas outras páginas com nomes e números.
O calor enfumaçado do bar era acolhedor e familiar, tanto quanto o aroma de café, pães e doces. O homem e a mulher ao balcão olharam para o policial fardado e retomaram a conversa interrompida. Brunetti pediu um expresso; Vianello, um caffè corretto, café preto com uma boa dose de grapa. Quando o copeiro serviu as bebidas, eles as adoçaram com duas colheres de açúcar e ficaram alguns instantes aquecendo as mãos nas xícaras.
Vianello bebeu o corretto de um só trago, pôs a xícara no balcão e perguntou: “Mais alguma coisa, senhor?”.
“Dê uma olhada no tráfico de drogas no bairro. Quem vende e onde vende. Verifique se alguém foi preso com entorpecentes ou por outro crime: venda, uso, furto, qualquer coisa. E descubra onde eles se drogam, pode ser em qualquer calle que dá no canal, veja se há algum lugar onde aparecem seringas de manhã.”
“O senhor acha que o crime tem a ver com o tráfico?”
Brunetti terminou de tomar o café e pediu outro com um gesto. Antes que o balconista lhe perguntasse, Vianello sacudiu a cabeça numa veemente recusa.
“Não sei. Pode ser. Vamos dar uma olhada nisso primeiro”, disse Brunetti.
O policial tomou nota de tudo. Após terminar de escrever, guardou o bloco no bolso do peito e fez menção de tirar a carteira.
“Não, não”, Brunetti insistiu. “Eu pago. Volte para a lancha e chame os mergulhadores. E mande interditar a área. Mantenha as entradas do canal fechadas enquanto eles estiverem trabalhando.”
Vianello agradeceu o café e se foi. Pelas vidraças embaçadas do bar, Brunetti ficou observando o ir e vir das pessoas no campo. Viu-as descerem da ponte principal, que dava no hospital, notarem a presença da polícia à direita, perguntarem aos que tinham chegado antes o que havia acontecido. Geralmente paravam e ficavam olhando ora para os uniformes escuros que continuavam por ali, ora para a lancha da polícia atracada à margem do canal. Depois, não vendo nada de extraordinário, seguiam seu caminho. Notou que o velhote barbudo continuava encostado no gradil da estátua. Mesmo depois de anos na polícia, não conseguia entender por que as pessoas gostavam tanto de ver de perto a morte de um semelhante. Era um mistério que ele nunca fora capaz de desvendar, aquele sórdido fascínio pelo fim da vida, sobretudo quando era violento, como acabava de ocorrer.
Virou-se para o balcão e tomou rapidamente o segundo café. “Quanto é?”, perguntou.
“Cinco mil liras.”
Brunetti pagou com uma nota de dez mil e esperou o troco. Ao entregá-lo, o copeiro perguntou: “Aconteceu alguma coisa ruim, senhor?”.
“Aconteceu. Uma coisa muito ruim.”
2
Já que estava tão perto da questura, Brunetti achou preferível ir a pé a voltar para a lancha com os outros policiais. Cortou caminho passando pela igreja evangélica, e chegou à questura pelo lado direito do prédio. O policial postado à entrada abriu a pesada porta de vidro assim que o viu; Brunetti foi para a escada que dava acesso ao escritório, no quarto andar, atravessando a fila de estrangeiros em busca de visto de residência e autorização de trabalho, uma fila que se estendia até a metade do saguão.
Ao entrar na sala, encontrou a escrivaninha exatamente como a deixara na véspera, abarrotada de papéis e pastas de arquivo dispostas sem nenhuma ordem específica. As que estavam mais à mão continham fichas de funcionários, as quais lhe competia ler e comentar: fazia parte do processo bizantino de promoção pelo qual passavam todos os funcionários públicos. A segunda pilha era de material ligado ao último homicídio ocorrido na cidade, o espancamento brutal e insano de um rapaz na barragem do Zattere, um mês antes. Tamanha fora a violência com que o agrediram que, no começo, a polícia chegou a julgar que tinha sido obra de uma gangue. Entretanto, bastou um dia para que se descobrisse que o criminoso não passava de um molecote franzino de apenas dezesseis anos. A vítima era homossexual; e o pai do assassino, um conhecido fascista que nele instilara a convicção de que os comunistas e os gays eram uns vermes e só mereciam morrer. Assim, às cinco horas de uma bela manhã de verão, os dois jovens se encontraram, numa trajetória letal, às margens do Canal de Giudecca. Nunca se soube o que houve entre eles, mas a vítima ficou num estado tão lastimável que a polícia negou à família o direito de ver o corpo, que lhe foi entregue em caixão lacrado. O pedaço de pau usado para surrar o rapaz e estocá-lo até a morte continuava guardado numa caixa plástica no depósito do segundo andar da questura. Agora pouco restava a fazer, somente cuidar para que não se interrompesse o tratamento psiquiátrico do delinqüente e para que ele não fosse autorizado a sair da cidade. O Estado não providenciara atendimento psiquiátrico para a família do morto.
Em vez de se sentar à escrivaninha, Brunetti abriu uma das gavetas laterais e pegou o barbeador elétrico. Colocando-se à janela enquanto fazia a barba, ficou observando a fachada da igreja de San Lorenzo, havia cinco anos coberta de tapumes, atrás dos quais se executava uma vasta obra de restauração, segundo diziam. Ele não tinha nenhuma prova de que isso era verdade, pois nada mudara naquele longo período, e a porta principal da igreja continuava invariavelmente fechada.
O telefone tocou: era a linha externa direta. Ele consultou o relógio: 9h30. Só podiam ser os urubus. Desligou o barbeador e foi atender.
“Brunetti.”
“Buon giorno, commissario. Aqui é Carlon”, disse uma voz muito grave. E, embora fosse absolutamente desnecessário, identificou-se como repórter policial do Gazzettino.
“Buon giorno, signor Carlon.” Mesmo sabendo o que ele queria, Brunetti esperou que dissesse.
“É sobre o americano que o senhor tirou do rio Dei Mendicanti hoje de manhã.”
“Foi o policial Luciani que o tirou de lá, e nós ainda não temos nenhuma prova de que ele era americano.”
“Obrigado por me corrigir, dottore”, disse Carlon com um sarcasmo que transformou o agradecimento num insulto. Ante o silêncio de Brunetti, prosseguiu. “Ele foi assassinado, não?” Não procurou dissimular o prazer que sentia diante dessa possibilidade.
“Parece que sim.”
“Esfaqueado?”
Como aquela gente conseguia saber de tanta coisa em tão pouco tempo? “É.”
“Assassinado?”, repetiu Carlon com fingida paciência na voz.
“Só vamos ter certeza quando recebermos o laudo da autópsia que o doutor Rizzardi vai realizar hoje à tarde.”
“Havia um ferimento provocado por faca?”
“Havia.”
“Mas o senhor ainda não sabe se foi isso que causou a morte?” Carlon arrematou a pergunta com uma bufada de incredulidade.
“Ainda não”, respondeu Brunetti com toda a calma. “Como eu já disse, só vamos saber quando o laudo da autópsia chegar.”
“Algum outro sinal de violência?”, perguntou o jornalista, evidentemente contrariado com a escassez de informação.
“Só a autópsia dirá.”
“O senhor está sugerindo que ele pode ter se afogado, comissário?”
“Signor Carlon”, Brunetti disse, decidindo encerrar a conversa, “o senhor sabe muito bem que, se esse homem tiver passado algum tempo na água de um dos nossos canais, é bem provável que uma doença o tenha matado antes que ele se afogasse.” Do outro lado, apenas silêncio. “Se o senhor tiver a gentileza de me telefonar à tarde, lá pelas quatro, é possível que eu tenha informações mais precisas.” Fora justamente a cobertura de Carlon do último homicídio que resultara na exposição da vida privada da vítima, e Brunetti continuava bastante ressentido com ele.
“Obrigado, comissário. Eu volto a ligar. Só mais uma coisa... como é mesmo o nome do policial?”
“Luciani, Mário Luciani, um funcionário exemplar.” Todos eram exemplares quando Brunetti os mencionava à imprensa.
“Obrigado, comissário. Vou preparar uma nota. E não vou esquecer de citar a sua colaboração.” Sem mais rodeios, Carlon desligou.
Antes a convivência de Brunetti com a imprensa era relativamente amigável, às vezes mais do que isso, e não faltaram ocasiões em que ele chegou a usá-la para colher informações sobre um crime. Ultimamente, porém, a onda cada vez mais forte de sensacionalismo na imprensa impedia qualquer relação com os jornalistas que fosse além da mera formalidade; qualquer especulação que ele deixasse escapar corria o risco de ser publicada, no dia seguinte, como uma acusação quase direta. Por isso preferia agir com cautela, restringindo rigorosamente as informações que dava, por mais que os repórteres soubessem que eram exatas e verdadeiras.
Brunetti sabia que não havia praticamente nada a fazer enquanto o laboratório não analisasse a passagem encontrada no bolso do rapaz e enquanto o laudo da autópsia não tivesse chegado. Naquele momento, nos escritórios do andar inferior, seus homens já deviam estar telefonando para os hotéis, e avisariam caso descobrissem alguma coisa. Conseqüentemente, só lhe restava continuar lendo e assinando as fichas.
Uma hora depois, pouco antes das onze, a linha interna tocou. Ele atendeu, sabendo perfeitamente quem era. “Alô, vice-questore?”
Surpreso por ter sido identificado tão prontamente — talvez porque esperasse que Brunetti estivesse ausente ou dormindo —, seu superior, o vice-questore Patta, demorou um pouco a falar. “Que história é essa de americano morto, comissário? Por que eu não fui avisado? Você tem idéia de como isso pode prejudicar o turismo?” Brunetti desconfiou que a terceira pergunta era a única que realmente interessava a Patta.
“Que americano, senhor?”, perguntou, afetando curiosidade.
“O americano que você tirou do canal hoje cedo.”
“Ah!”, exclamou ele, desta vez com polida surpresa. “Então o laudo já chegou? Tão cedo? Quer dizer que ele era americano mesmo?”
“Não banque o esperto comigo, comissário”, irritou-se o vice-questore. “O laudo ainda não chegou, mas eu sei que ele estava com moedas americanas no bolso, portanto, só podia ser americano.”
“Ou numismata.”
A longa pausa que se seguiu revelou que Patta ignorava o significado da palavra.
“Já disse para não bancar o esperto, Brunetti. Nós vamos trabalhar com a hipótese de que ele é americano. E não podemos deixar que saiam matando americanos por aí, muito menos com a situação do turismo este ano. Entendeu?”
Brunetti teve vontade de perguntar se não havia problema se saíssem matando gente de outras nacionalidades — albaneses, quem sabe? —, mas se limitou a dizer: “Sim, senhor”.
“E?”
“E o quê, senhor?”
“Que providências você tomou?”
“Os mergulhadores estão vistoriando o canal em que ele foi encontrado. Quando soubermos a que hora morreu, vão examinar os lugares de onde pode ter vindo, supondo que tenha sido assassinado em outra parte. Vianello foi averiguar o consumo e o tráfico de drogas no bairro, e o laboratório está analisando as coisas que encontramos nos bolsos da vítima.”
“As tais moedas?”
“Não sei se é necessário recorrer ao laboratório para saber que são americanas, senhor.”
Depois de um longo silêncio, que indicou que não valia a pena continuar a provocação, o vice-questore perguntou: “E Rizzardi?”.
“Ficou de me entregar o laudo à tarde.”
“Eu quero que ele me mande uma cópia.”
“Sim, senhor. Mais alguma coisa?”
“Não, é só.” Patta desligou sem se despedir, e Brunetti retomou a leitura das fichas.
Terminou esse trabalho pouco depois de uma da tarde. Como não sabia a que hora Rizzardi ia telefonar e queria receber o laudo o mais depressa possível, achou melhor não ir almoçar em casa nem perder tempo num restaurante, embora estivesse com fome por ter começado o dia tão cedo. Resolveu forrar o estômago com uns tramezzini no bar junto à ponte dei Greci.
Ao vê-lo entrar, Arianna, a proprietária, cumprimentou-o com intimidade e colocou automaticamente uma taça no balcão. Orso, seu velho pastor alemão, que com o passar dos anos desenvolvera uma afeição especial por Brunetti, levantou-se com dificuldade do seu lugar habitual, junto ao freezer de sorvetes, e se aproximou com passos trôpegos. Ficou esperando até que ele lhe afagasse a cabeça e lhe puxasse delicadamente as orelhas e então se deixou cair aos seus pés. Os muitos fregueses do bar estavam acostumados a se aproximar de Orso e a atirar-lhe cascas de pão ou recheio de sanduíches. O cachorro gostava muito de aspargos.
“Do que vai ser hoje, Guido?”, perguntou Arianna, referindo-se ao tramezzine e enchendo a taça de vinho tinto.
“Um de presunto com alcachofra e um de camarão.” Orso começou a sacudir o rabo num movimento circular, roçando-lhe de leve o tornozelo. “E um de aspargos.” Quando os sanduíches chegaram, Brunetti pediu mais vinho e bebeu devagar, pensando em como as coisas ficariam complicadas caso o morto fosse mesmo americano. Sem saber se haveria problemas de jurisdição, decidiu não pensar mais no assunto.
Como que de propósito, Arianna disse: “Muito ruim essa história do americano”.
“A gente ainda não sabe se ele é americano.”
“Bem, se for, vão começar a gritar ‘terrorismo’, e isso não é bom para ninguém.” Embora fosse iugoslava de nascimento, seu modo de pensar era tipicamente veneziano: os negócios acima de tudo.
“Aquela zona é cheia de bocas-de-fumo”, acrescentou, como se falar nisso fizesse com que a causa fosse o tráfico de drogas. Brunetti lembrou que ela também era dona de hotel, de modo que a mera idéia de um boato sobre terrorismo bastava para lhe infundir um justificado pavor.
“É, nós já estamos checando isso, Arianna. Obrigado.” Enquanto ele falava, um pedaço de aspargo se soltou do sanduíche e foi cair diante do focinho de Orso. E, uma vez deglutido o primeiro, seguiu-se outro. Já que o pobre animal tinha dificuldade para se levantar, por que não servi-lo “em domicílio”?
Brunetti pagou no balcão, com uma nota de dez mil liras, e guardou o troco. Arianna não incluiu o valor na caixa registradora, de modo que a transação não foi declarada e, portanto, estaria livre de impostos. Fazia anos que ele deixara de se incomodar com essa perpétua fraude contra o Estado. Os fiscais da Receita que se ocupassem dela. A lei obrigava a proprietária a registrar a transação e emitir um cupom fiscal; se Brunetti saísse do bar sem o comprovante, os dois estariam sujeitos a uma multa de centenas de milhares de liras. Os homens da Receita costumavam esperar à porta dos bares, das lojas e dos restaurantes, observando o movimento lá dentro, e então abordavam os clientes que saíam, exigindo a apresentação do cupom. Mas Veneza era uma cidade pequena, e os fiscais o conheciam, de modo que ele nunca seria abordado — a menos que a Receita trouxesse reforço de fora e promovesse aquilo que a imprensa chamava de blitz, abrangendo todo o centro comercial da cidade e arrecadando milhões de liras em multas num só dia. E se o detivessem? Brunetti lhes mostraria o distintivo e diria que tinha entrado apenas para usar o toalete. Sem dúvida, eram os impostos que pagavam seu salário. Mas ele estava pouco ligando para isso e suspeitava que o mesmo valia para a maioria dos seus concidadãos. Num país em que a máfia tinha liberdade de matar quem quer que fosse em qualquer lugar, sonegar o imposto sobre a venda de uma xícara de café estava longe de ser o crime que mais lhe interessava.
De volta ao escritório, encontrou um bilhete pedindo-lhe que entrasse em contato com o dr. Rizzardi. Quando telefonou, encontrou o médico-legista ainda em seu gabinete na ilha-cemitério.
“Ciao, Ettore. É Guido. O que você descobriu?”
“Eu dei uma olhada nos dentes. Todo o trabalho é americano: seis obturações e um tratamento de canal. Coisa de anos atrás, e não há dúvida quanto à técnica. É tudo americano mesmo.”
Brunetti sabia que era tolice perguntar se ele tinha certeza.
“Que mais?”
“A lâmina tinha quatro centímetros de largura e pelo menos quinze de comprimento. A ponta perfurou o coração, exatamente como eu pensei. Passou entre as costelas, nem chegou a roçá-las, de modo que quem fez isso sabia que precisava empunhar a faca em posição horizontal. E o ângulo foi perfeito.” O médico fez uma breve pausa. “Como a facada foi do lado esquerdo, eu diria que o criminoso é destro ou pelo menos usou a mão direita.”
“E quanto à altura dele? Pode me dizer alguma coisa?”
“Não, nada conclusivo. Mas ele devia estar bem perto da vítima, cara a cara.”
“Sinais de luta? Alguma coisa sob as unhas?”
“Não. Nada. Mas o rapaz esteve imerso no canal por cinco ou seis horas, portanto, se havia alguma coisa sob as unhas, é provável que tenha sido removida pela própria água.”
“Cinco ou seis horas?”
“É. Eu diria que ele morreu à meia-noite, uma hora.”
“Que mais?”
“Nada em particular. Estava em excelente forma física, era muito musculoso.”
“E a comida?”
“Comeu um pouco algumas horas antes de morrer. Provavelmente um sanduíche. Presunto e tomate. Mas não tomou nada, pelo menos nenhuma bebida alcoólica. Não havia álcool no sangue, e, a julgar pela aparência do fígado, eu diria que ele bebia muito pouco, se é que bebia.”
“Cicatrizes? Operações?”
“Uma cicatriz pequena...” Rizzardi se interrompeu, Brunetti ouviu-o folhear uns papéis. “No pulso esquerdo, em forma de meia-lua. Pode ser qualquer coisa. Ele nunca foi operado. Ainda tinha as amígdalas e o apêndice. Saúde perfeita.” Pelo tom de voz, Brunetti compreendeu que aquilo era tudo que Rizzardi tinha a informar.
“Obrigado, Ettore. Você vai mandar o laudo por escrito?”
“A Madre Superiora quer dar uma olhada?”
Brunetti riu do título que Rizzardi dera ao vice-questore. “Mandou pedir uma cópia. Se vai lê-la, são outros quinhentos.”
“Bom, nesse caso, eu vou caprichar no jargão médico. Tanto que ele vai me telefonar pedindo que o traduza.” Três anos antes, Patta se opusera à nomeação de Rizzardi para o cargo de médico-legista, pois tinha um amigo cujo sobrinho estava concluindo o curso de medicina e aspirava a um emprego público. Mas Rizzardi, graças aos seus quinze anos de experiência em patologia, acabou sendo nomeado e, desde então, vivia às turras com Patta.
“Então eu já estou ansioso para lê-lo.”
“Ah, nem tente, Guido. Você não vai entender patavina. Se tiver alguma dúvida, é só telefonar que eu explico.”
“E as roupas?”, perguntou Brunetti, embora soubesse que o médico-legista não era responsável por essa parte.
“Ele estava de jeans Levis. E tênis Reebok número 47.” Antes que ele dissesse alguma coisa, o legista prosseguiu. “Eu sei, eu sei. Isso não significa que seja americano. Hoje em dia, vendem Levis e Reebok em qualquer lugar do mundo. Mas a cueca era. Eu a mandei para o laboratório, o pessoal de lá deve ter mais informações, mas a etiqueta estava em inglês, dizia ‘Made in usa’.” Mudou de voz, demonstrando uma curiosidade incomum. “Os rapazes conseguiram alguma coisa nos hotéis? Você já tem idéia de quem ele era?”
“Por enquanto, não. Ainda devem estar telefonando.”
“Tomara que você descubra quem ele é para poder mandá-lo para casa. Não é bom morrer em terra estrangeira.”
“Obrigado, Ettore. Vou fazer o possível para descobrir quem é ele. E mandá-lo para casa.”
Brunetti desligou. Um americano. Sem carteira, sem passaporte, sem documento e sem dinheiro, a não ser aquelas poucas moedas. Tudo isso sugeria latrocínio, um assalto que tinha saído errado, terrivelmente errado, e resultara em morte. E o ladrão possuía uma faca e tivera sorte ou habilidade ao usá-la. Os ladrões de Veneza tinham um pouco de sorte, mas raramente habilidade. Roubavam e fugiam. Em qualquer outra cidade, aquilo podia ser tomado por um assalto que acabara mal, mas, em Veneza, tal coisa simplesmente não acontecia. Habilidade ou sorte? E, na primeira hipótese, habilidade de quem, e por que tinha sido necessário recorrer a ela?
Brunetti ligou para o escritório central, perguntando se haviam descoberto alguma coisa nos hotéis. Nos de primeira e segunda classe, só deram pela falta de um hóspede, um senhor de cerca de cinqüenta anos que não retornara ao Gabriele Sandwirth na noite anterior. Os policiais passaram a verificar os estabelecimentos menores, num dos quais um americano tinha fechado a conta na véspera, mas a descrição não coincidia.
Era possível que o rapaz tivesse alugado um apartamento na cidade, pensou ele; nesse caso, podiam levar dias para notificar o desaparecimento, ou talvez nem o notificassem.
Telefonou para o laboratório e pediu para falar com Enzo Bocchese, o chefe da perícia. Quando este atendeu, Brunetti perguntou: “Alguma novidade sobre as coisas que estavam no bolso dele?”. Não foi necessário especificar no bolso de quem.
“Analisamos o bilhete da passagem com infravermelho. Estava tão molhada que achei que não fôssemos conseguir nada. Mas conseguimos.”
Extremamente orgulhoso da tecnologia e do que era capaz de fazer com ela, Bocchese sempre precisava de um estímulo e, depois, de um elogio. “Ótimo. Não sei como, mas você sempre acaba descobrindo alguma coisa.” O que não deixava de estar muito próximo da verdade. “De onde era?”
“De Vicenza para Veneza, ida e volta. Ele a comprou ontem e cancelou a viagem de volta a Vicenza. Já mandei buscar um funcionário da estação para ver se ele nos conta alguma coisa sobre o cancelamento, que trem era, mas não sei se vai dar certo.”
“De que classe era, primeira ou segunda?”
“Segunda.”
“Mais alguma coisa? As meias? O cinto?”
“Rizzardi já lhe falou sobre a roupa?”
“Falou. Disse que a cueca é americana.”
“É americana, sem dúvida. Quanto ao cinto, pode ser de qualquer lugar. Couro preto com fivela de metal. As meias são de material sintético. Fabricadas em Taiwan ou na Coréia. Vendidas em toda parte.”
“Que mais?”
“Só isso.”
“Bom trabalho, Bocchese, mas acho que, para ter certeza, a gente não precisa de mais nada além do bilhete de trem.”
“Certeza do quê, comissário?”
“De que ele era americano.”
“Como assim?”
“Porque é lá que os americanos se concentram”, explicou Brunetti. Todo italiano da região sabia da base militar de Vicenza, Caserma Não-sei-das-quantas, onde, mesmo tantos anos depois do fim da guerra, moravam milhares de soldados norte-americanos e suas famílias. Se o palpite estivesse certo, isso invocaria o espectro do terrorismo e, inevitavelmente, haveria questões jurisdicionais. Os americanos tinham polícia própria, e bastaria que alguém sussurrasse a palavra “terrorismo” para que a otan e possivelmente a Interpol entrassem em cena. Ou até mesmo a cia, idéia que provocou uma careta em Brunetti: como Patta se deleitaria com a exposição, com a notoriedade que havia de acompanhar a chegada dos agentes. Brunetti não tinha a menor idéia do que sentir diante de um ato de terrorismo; em todo caso, não sentia que aquele fosse um. A faca era uma arma muito corriqueira; não chamava a atenção para o crime. E ninguém assumira a autoria do atentado. Naturalmente, isso ainda podia acontecer, mas seria tarde demais, conveniente demais.
“Claro, claro”, concordou Bocchese. “Eu devia ter pensado nisso.” Fez uma longa pausa para que Brunetti dissesse alguma coisa, mas ele permaneceu calado. “Mais alguma coisa, senhor?”
“Sim. Se o homem da estação ferroviária der alguma informação sobre o trem que ele tomou, avise-me.”
“Duvido. O bilhete foi picotado só uma vez. É impossível identificar o trem. Mas eu telefono se ele disser alguma coisa. Algo mais?”
“Não, nada. Obrigado, Bocchese.”
Desligando o telefone, Brunetti sentou-se à escrivaninha e, com os olhos fitos na parede, ficou avaliando as informações e as possibilidades. Um rapaz em perfeita forma física ia a Veneza com passagem de volta para a cidade onde havia uma base do exército americano. Tinha obturações americanas nos dentes e moedas americanas no bolso.
Ele voltou a tirar o fone do gancho e solicitou ao telefonista: “Veja se consegue entrar em contato com a base militar americana de Vicenza”.
3
Enquanto aguardava a ligação, Brunetti evocou a imagem daquele semblante jovem, os olhos muito abertos na morte. Podia ser qualquer rosto que ele tinha visto nas fotografias dos soldados americanos na Guerra do Golfo: moço, bem escanhoado, inocente, irradiando a extraordinária saúde que os caracterizava. Mas o do rapaz encontrado no canal era estranhamente solene, estava apartado dos companheiros pelo mistério da morte.
O telefone tocou. “Brunetti.”
“É muito difícil entrar em contato com eles”, queixou-se o telefonista. “Na lista telefônica de Vicenza não consta nada, nem procurando por base americana, nem por otan, nem por Estados Unidos. Mas eu consegui o número da Polícia do Exército. Só um minutinho, senhor, estou transferindo a ligação.”
Era estranho, pensou Brunetti, que uma presença tão notória não figurasse na lista telefônica. Ouviu os cliques e interferências habituais nas chamadas de longa distância, escutou o telefone tocar do outro lado e, então, uma voz masculina disse: “Posto da Polícia do Exército, pois não?”
“Boa tarde”, disse ele em inglês. “Aqui é o comissário Guido Brunetti, da polícia de Veneza. Quero falar com o oficial encarregado.”
“Posso saber do que se trata, senhor?”
“Assunto policial. Posso falar com o seu superior?”
“Um momento.”
Houve um prolongado intervalo, vozes abafadas conferenciando, então outra pessoa falou. “Sargento Frolich. O que o senhor deseja?”
“Boa tarde, sargento. Aqui é o comissário Brunetti, da polícia de Veneza. Eu queria falar com o seu superior ou com o oficial encarregado.”
“Pode adiantar o assunto?”
“Eu já expliquei ao seu colega”, disse ele, procurando não alterar a voz, “é assunto da polícia, e eu quero falar diretamente com o oficial no comando. Quantas vezes preciso repetir isso?”
“Lamento, senhor, mas ele não se encontra no posto no momento.”
“A que hora volta?”
“Não sei dizer, comissário. O senhor pode me dar uma idéia do assunto?”
“Um soldado desaparecido.”
“Como?”
“Eu quero saber se vocês foram notificados do desaparecimento de um soldado.”
A voz ficou repentinamente mais séria. “Como é mesmo o seu nome, senhor?”
“Comissário Brunetti. Polícia de Veneza.”
“Pode me dar o seu telefone para que entremos em contato?”
“Ligue para a questura de Veneza. O número é 5203222; e o prefixo da cidade, 041, mas o senhor provavelmente vai conferir na lista telefônica. Fico aguardando a sua ligação. Brunetti.” Desligou, certo de que o militar ia verificar o número na lista telefônica antes de voltar a ligar. A mudança na voz do sargento denotara interesse, não apreensão, portanto era provável que ainda não houvessem notificado o desaparecimento de ninguém. Ainda.
Uns dez minutos depois, o telefone tocou, e o telefonista informou que era da base militar norte-americana de Vicenza. “Brunetti”, atendeu.
“Comissário Brunetti”, disse uma voz diferente. “Aqui é o capitão Duncan da Polícia do Exército de Vicenza. Gostaria de saber por que o senhor entrou em contato conosco.”
“Porque eu queria saber se deram parte do desaparecimento de um soldado. Um rapaz de vinte e poucos anos. Cabelo claro, olhos azuis.” Demorou um momento para converter a estatura para o sistema de medidas anglo-saxão. “Mais ou menos cinco pés e nove polegadas de altura.”
“O senhor pode me informar por que a polícia de Veneza está interessada nisso? Ele teve algum problema aí?”
“Sem dúvida alguma, capitão. Hoje de manhã, nós encontramos o corpo de um rapaz boiando num canal. Estava com uma passagem de Vicenza no bolso, e sua roupa e as obturações nos dentes eram americanas, por isso nos lembramos da base militar e imaginamos que ele pode ser daí.”
“Morreu afogado?”
Brunetti ficou em silêncio até que o outro repetisse a pergunta: “Ele morreu afogado?”.
“Não, capitão, não foi isso. Havia sinais de violência.”
“Como assim?”
“Ele foi esfaqueado.”
“Assaltado.”
“Sim, é possível...”
“Mas o senhor parece ter dúvidas.”
“Tudo indica que foi assalto. Ele estava sem carteira e sem documento de identidade.” Brunetti voltou à pergunta inicial. “O senhor pode me dizer se há registro de alguém desaparecido, que não se apresentou no trabalho?”
O capitão fez uma longa pausa antes de responder. “Posso lhe telefonar daqui a uma hora?”
“Claro que pode.”
“Nós temos de entrar em contato com as unidades, uma por uma, e verificar se alguém faltou ao trabalho ou sumiu dos quartéis. Quer repetir a descrição, por favor?”
“O homem encontrado aparenta vinte e poucos anos, tem olhos azuis, cabelo claro e mais ou menos cinco pés e nove polegadas de altura.”
“Obrigado, comissário. Nós vamos cuidar disso imediatamente. Eu telefono assim que souber de alguma coisa.”
“Obrigado, capitão.”
Caso fosse confirmado que o rapaz era de fato um militar americano, Patta ficaria apoplético com a necessidade de capturar o assassino. Brunetti sabia que ele era incapaz de ver o fato como a perda de uma vida humana. Para o vice-questore, tratava-se de um rude golpe contra o turismo, só isso, e todo o furor era pouco para defender um bem cívico tão importante.
Brunetti saiu do escritório e desceu o lance de escada que o separava das salas maiores, onde trabalhavam os policiais fardados. Ao entrar, viu que Luciani já tinha voltado e não parecia nada afetado pelo mergulho daquela manhã. Estremeceu ante a idéia de entrar na água dos canais, não tanto pelo frio, mas pela imundície. Nos momentos de bom humor, costumava dizer que era preferível não sobreviver à experiência de cair num deles. No entanto, nadava no Canale Grande quando menino, e as pessoas mais velhas que conhecia contavam que, na juventude, a pobreza os obrigava a usar a água salobra dos canais e da laguna para cozinhar, isso na época em que o sal era uma mercadoria caríssima e excessivamente taxada, e os venezianos, muito pobres, ainda não tinham aprendido a explorar o turismo.
Luciani, que estava telefonando, fez sinal para que ele se aproximasse. “É, tio, eu sei, eu sei”, disse. “Mas e o filho dele? Não, não aquele que se meteu em encrenca em Mestrino no ano passado.”
Enquanto ouvia a resposta do parente, espalmou a mão num gesto que pedia a Brunetti que esperasse a conversa terminar. Este se sentou diante da escrivaninha e ficou ouvindo. “Quando foi que esse cara trabalhou na vida? O quê? Em Breda? Ora essa, tio, você sabe que ele não pára em emprego.” Luciani passou um longo tempo em silêncio, ouvindo a resposta do tio. “Não, não. Se o senhor souber de alguma coisa, se de repente ele começar a gastar dinheiro por aí, avise. Sim, sim, tio. Um beijo para a tia Luísa.” Seguiu-se uma longa série daqueles ciaos dissilábicos, sem os quais os venezianos eram incapazes de encerrar uma conversa.
Ao desligar, Luciani olhou para Brunetti e disse: “Era o meu tio Carlo. Mora lá perto de Fondamente Nuove, bem atrás da San Giovanni e Paolo. Eu estava me informando sobre o bairro: quem vende e quem usa drogas. O único que ele sabe que anda metido com isso é Vittorio Argenti”. Brunetti balançou a cabeça, lembrava-se do nome. “Já perdi a conta das vezes que nós o trouxemos para cá. Mas meu tio garante que Vittorio arranjou emprego em Breda há uns seis meses, e agora, pensando bem, faz mais ou menos isso que ele não aparece aqui. Posso até dar uma olhada no prontuário, mas eu me lembraria se tivesse sido preso por algum motivo. Meu tio conhece a família e jura que todo mundo está convencido de que ele se regenerou.” Acendeu um cigarro e assoprou o fósforo. “E, pelo jeito, meu tio também acredita nisso.”
“Fora Argenti, há mais alguém no bairro?”
“Parece que ele era o principal. Não há muito tráfico na região. Eu conheço o gari de lá, Noe, e ele nunca se queixa de encontrar seringas nas ruas de manhã, aquilo não é como San Maurizio”, disse Luciani, mencionando um dos bairros mais notórios pelo consumo de drogas.
“E Rossi descobriu alguma coisa?”
“Também não, senhor. O bairro é tranqüilo. De vez em quando, há um roubo ou um assalto, mas quase nenhuma droga, e também nunca houve violência”, respondeu o policial. “Antes disso”, acrescentou.
“E o pessoal das casas? Alguém viu ou ouviu alguma coisa?”
“Não, senhor. Nós falamos com todo mundo que estava no campo de manhã, mas ninguém viu nem ouviu nada suspeito. Nem os moradores.” Luciani se antecipou à pergunta seguinte. “Puccetti também não descobriu nada.”
“Onde está Rossi?”
O jovem policial informou sem hesitar: “Foi tomar café. Se o senhor quiser falar com ele, deve estar de volta daqui a pouco”.
“E os mergulhadores?”
“Ficaram mais de uma hora lá dentro. Mas não acharam nada que possa ter servido de arma. Só a porcaria de sempre: garrafas, copos, até uma geladeira, e uma chave de fenda, mas nada que lembre uma arma. Nem de longe.”
“E Bonsuan? Já falaram com ele sobre as marés?”
“Não, senhor. Ainda não. A gente não sabe a hora da morte.”
“Foi por volta de meia-noite”, informou Brunetti.
Luciani abriu o caderno de registro, que estava na mesa, e correu o dedo pela coluna dos nomes. “Bonsuan foi levar um barco à estação. Para despachar dois presos no trem de Milão. Quer que ele suba quando voltar?”
Brunetti fez que sim, e os dois foram interrompidos pela chegada de Rossi, que contou a mesma história: ninguém tinha visto nem ouvido nada anormal aquela manhã, nem no campo nem nas casas em frente.
Em qualquer outra cidade italiana, o fato de não terem visto nem ouvido nada não indicaria senão a falta de confiança na polícia e a relutância geral em colaborar. Mas lá, onde as pessoas geralmente acatavam a lei, e os policiais, na sua maioria, eram venezianos, significava pura e simplesmente que ninguém tinha visto nem ouvido nada. Se houvesse um sério envolvimento com drogas no bairro, a polícia saberia. Nunca faltava quem tivesse um primo, um namorado ou uma sogra que telefonasse para um amigo ou amiga que, inevitavelmente, tinha um primo, um namorado ou uma sogra na polícia, de modo que a informação acabaria chegando a Brunetti. Enquanto isso não acontecesse, só lhe restava dar como certo que praticamente não havia tráfico de entorpecentes naquela parte da cidade: não era lá que os usuários iam usar ou comprar drogas, muito menos um estrangeiro. Tudo isso parecia excluir qualquer relação entre o crime e o tráfico, pelo menos na medida em que este tinha alguma ligação com o bairro.
“Por favor, mande Bonsuan subir assim que ele voltar”, pediu Brunetti e voltou ao escritório, tomando o cuidado de usar a escada dos fundos para não passar perto do gabinete de Patta. Quanto mais tempo ficasse sem ter de conversar com ele, melhor.
No escritório, finalmente se lembrou de telefonar para Paola. Tinha esquecido de lhe avisar que não ia almoçar em casa, se bem que fazia anos que ela não se surpreendia nem se aborrecia com isso. Na ausência do marido, lia um livro durante a refeição, a não ser que os filhos estivessem presentes. Aliás, Brunetti andava desconfiado de que ela até gostava de almoçar em paz com os escritores sobre os quais dava aula na faculdade, pois nunca se queixava quando ele chegava tarde para o almoço ou simplesmente não chegava.
Ela atendeu ao terceiro toque. “Pronto.”
“Ciao, Paola. Sou eu.”
“Já imaginava. Como vão as coisas?” Nunca fazia uma pergunta direta sobre o seu trabalho ou sobre a sua ausência no almoço. Não que lhe faltasse interesse, simplesmente preferia que fosse ele o primeiro a tocar no assunto. Mesmo porque, no fim, acabaria sabendo de tudo.
“Desculpe, não deu tempo de ir para casa, não consegui largar o telefone.”
“Não faz mal. Eu almocei com William Faulkner. Um charme de homem.” Com o tempo, eles passaram a tratar aqueles comensais livrescos como gente de carne e osso, o que dava margem a piadas sobre as maneiras (lamentáveis) do Doutor Johnson, o linguajar (obsceno) de Melville e a quantidade (espantosa) de álcool que Jane Austen consumia.
“Mas chego na hora do jantar. Preciso conversar com algumas pessoas aqui e estou esperando um telefonema de Vicenza.” Como ela não perguntasse nada, Brunetti acrescentou uma explicação. “Da base militar americana.”
“Ah, então é isso”, disse Paola, dando a entender que já sabia do crime e da provável identidade da vítima. O barman devia ter contado ao carteiro, que contara à moça do segundo andar, que telefonara para a irmã, e, enfim, a cidade inteira já sabia de tudo antes que os jornais ou o noticiário noturno tivessem divulgado uma palavra.
“É, é isso.”
“A que hora você acha que vai chegar?”
“Antes das sete.”
“Tudo bem. Então é melhor desligar, pode ser que estejam tentando falar com você.” Não lhe faltavam motivos para amar Paola, inclusive o fato de saber que era realmente por isso que ela ia desligar o telefone. Não havia mensagens secretas nas entrelinhas nem subentendidos no que dizia; simplesmente queria desocupar a linha para que ele pudesse trabalhar em paz e chegasse em casa mais cedo.
“Obrigado, Paola. Até as sete.”
“Ciao, Guido.” E ela voltou a se ocupar de William Faulkner, deixando-o livre para trabalhar e sem se sentir culpado pelas exigências da profissão.
Quase cinco horas da tarde, e os norte-americanos não tinham voltado a ligar. Brunetti se sentiu tentado a telefonar novamente, mas resistiu. Se um soldado tivesse desaparecido, a base militar entraria em contato. Afinal, para dizê-lo com todas as letras, o cadáver estava lá.
Remexeu a pilha de fichas, que continuava na mesa, até encontrar as de Luciani e Rossi. Em ambas acrescentou uma observação: tiveram um desempenho extraordinário ao entrar no canal para resgatar o corpo. Podiam ter esperado a chegada de um barco ou utilizado varas, mas fizeram uma coisa que ele mesmo não sabia se teria coragem ou vontade de fazer, entrar naquela água fétida.
O telefone tocou. “Brunetti.”
“Aqui é o capitão Duncan. Nós averiguamos em todas as unidades e descobrimos que, de fato, há um homem que faltou ao trabalho hoje. A descrição coincide. Checamos em seu apartamento, mas não há sinal dele, por isso vamos mandar uma pessoa até aí para ver o corpo.”
“Quando, capitão?”
“Se possível, hoje mesmo.”
“Certo. E como essa pessoa vem?”
“Como?”
“Quero saber se ela vem de trem ou de carro para que alguém vá recebê-la.”
“Ah, entendo”, disse Duncan. “Vai de carro.”
“Então vou mandar um homem esperá-la na Piazzale Roma. Há um posto de carabinieri à direita de quem entra.”
“Está bem. O carro deve sair daqui a uns quinze minutos, de modo que deve chegar aí em menos de uma hora, por volta de quinze para as sete.”
“Vou deixar uma lancha aguardando. Temos de ir ao cemitério para identificar o corpo. A pessoa que vem conhecia o homem, capitão?” Brunetti sabia, por experiência, como era difícil identificar um morto pela fotografia.
“Conhecia, trabalhava com ele no hospital.”
“No hospital?”
“O desaparecido é o nosso inspetor de saúde pública, o sargento Foster.”
“Qual é o nome do oficial que vem para cá?”
“Peters. Terry Peters. Ahn... comissário”, disse o americano, “a capitã Peters é mulher. E também é a doutora Peters”, acrescentou com um matiz de presunção na voz.
E daí? perguntou-se Brunetti. Acaso Duncan esperava que ele ficasse de queixo caído porque os americanos admitiam mulheres no exército? Ou porque, além disso, permitiam que fossem médicas? Em vez de se mostrar espantado, resolveu dar o troco, bancando o italiano clássico, incapaz de resistir aos encantos de um rabo-de-saia, mesmo que estivesse fardado. “Muito bem, capitão. Neste caso, eu mesmo vou receber a capitã Peters. A doutora Peters.”
Duncan demorou alguns segundos para responder, mas se limitou a dizer: “Muito atencioso da sua parte, senhor comissário. Vou mandar a capitã procurá-lo”.
“Sim, faça isso”, disse Brunetti e desligou sem esperar que o outro se despedisse. Percebeu, sem arrependimento, que havia sido um tanto rude. Como lhe acontecia com freqüência, ficara ressentido com alguma coisa que, em sua opinião, estava nas entrelinhas do que acabava de ouvir. Em outras ocasiões, tanto nos seminários da Interpol, dos quais participavam norte-americanos, quanto nos três meses de estágio em Washington, tinha se irritado muitas vezes com aquele sentimento nacional de superioridade moral, com aquela convicção tão comum aos ianques de que haviam sido abençoados com essa superioridade para servir de deslumbrante farol moral neste mundo mergulhado nas trevas do erro. Talvez agora não fosse bem o caso; talvez tivesse interpretado mal o tom de voz do capitão Duncan, que só queria alertá-lo para evitar constrangimentos. Assim sendo, sua reação, com toda a certeza, não tinha feito senão confirmar o clichê do italiano suscetível e lúbrico.
Envergonhado, sacudiu a cabeça e digitou o número da linha externa e, a seguir, o de casa.
“Pronto”, atendeu Paola ao terceiro toque.
“Desta vez eu telefonei”, disse Brunetti sem preâmbulos.
“Então quer dizer que você vai se atrasar.”
“Tenho de ir à Piazzale Roma receber uma oficial americana que vem de Vicenza para identificar o corpo. Mas não demoro, devo estar aí pouco depois das nove. Ela vai chegar mais ou menos às sete.”
“Ela?”
“Pois é, ela. Eu tive a mesma reação. E, além de capitã, é médica.”
“Puxa, que mundo milagroso o nosso”, debochou Paola. “Capitã e médica ao mesmo tempo. Espero que ela seja muito boa nas duas coisas, porque vai fazer você perder uma deliciosa polenta com fígado.” Era um dos pratos prediletos de Brunetti, e, com toda a certeza, Paola o havia preparado porque sabia que ele não tinha almoçado.
“Eu como quando chegar.”
“Está bem. Eu sirvo as crianças e fico esperando.”
“Obrigado, Paola. Eu não demoro.”
“Estou esperando”, repetiu ela antes de desligar.
Assim que a linha ficou desocupada, Brunetti ligou para o segundo andar e perguntou se Bonsuan já tinha voltado. Ao saber que ele acabava de chegar, pediu que o mandassem subir.
Minutos depois, Danilo Bonsuan entrou no escritório. Rude e corpulento, parecia um homem que vivia na água, mas nunca pensava em bebê-la. Brunetti apontou para a cadeira em frente à escrivaninha. O piloto se sentou com certa dificuldade, suas articulações tinham perdido a flexibilidade nos muitos anos passados a bordo e às voltas com barcos. Brunetti sabia que era inútil esperar que ele desse informações espontaneamente, não por má vontade, mas simplesmente porque não tinha o hábito de falar, a não ser que fosse absolutamente necessário.
“Danilo, a mulher viu o corpo mais ou menos às cinco e meia, na maré baixa. O doutor Rizzardi disse que ele ficou umas cinco ou seis horas na água, ou seja, desde que morreu.” Calou-se para que o outro tivesse tempo de visualizar as vias aquáticas próximas do hospital. “Não acharam nenhuma arma no canal em que ele foi encontrado.”
Bonsuan não se deu ao trabalho de comentar esse detalhe. Ninguém era louco de jogar fora uma boa faca, muito menos no lugar onde acabava de usá-la para matar uma pessoa.
Dando isso por subentendido, Brunetti acrescentou: “Portanto ele deve ter sido assassinado em outro lugar”.
“Provavelmente”, disse o piloto, saindo do mutismo.
“Onde?”
“Cinco, seis horas?”, perguntou Bonsuan. Ao gesto afirmativo do superior, inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos, e Brunetti quase chegou visualizar a carta das marés da laguna que ele estava examinando. Ficou alguns minutos assim. Sacudiu a cabeça uma vez, numa breve negativa, excluindo uma possibilidade que ninguém chegaria a conhecer. Por fim, abriu os olhos. “Pode ter sido em dois lugares. Atrás do Santa Marina. Sabe aquela calle sem saída que dá no rio Santa Marina, atrás do hotel novo?”
Brunetti fez que sim. Era um lugar ermo, um beco sem saída.
“O outro é a Calle Cocco.” Vendo a expressão intrigada de Brunetti, Bonsuan explicou, “É uma das duas calles sem saída que começam na Calle Lunga, lá onde ela sai do Campo Santa Maria Formosa. Vai diretamente para a água.”
Embora a descrição o tivesse ajudado a localizar a calle e até a se lembrar da entrada, por onde já devia ter passado centenas de vezes, Brunetti não conseguia se lembrar de tê-la percorrido. Ninguém a freqüentava, a não ser que morasse lá, pois, como bem indicara o piloto, era uma calle sem saída que levava para a água e nela terminava.
“Os dois lugares são perfeitos”, acrescentou Bonsuan. “Ninguém passa por lá, muito menos a essa hora.”
“E a maré?”
“Ontem à noite, estava muito fraca. Quase sem correnteza. E um cadáver vai se enroscando nas coisas; demora mais. Só pode ter sido num desses dois lugares.”
“Mais algum?”
“Pode ser em qualquer calle que desemboca no Canal de Santa Marina, mas esses dois lugares são os melhores, já que a gente só sabe que o corpo ficou umas cinco ou seis horas boiando.” Bonsuan deu a impressão de ter concluído, mas prosseguiu. “A menos que o cara tenha usado um barco”, disse, deixando que o outro concluísse que estava se referindo ao assassino.
“Isso também é possível, não?”, perguntou Brunetti, embora lhe parecesse improvável. Barcos significavam motores e, àquela hora da noite, também significavam gente na janela para ver quem estava fazendo tanto barulho.
“Obrigado, Danilo. Por favor, mande os mergulhadores darem uma olhada nesses dois lugares. Não precisa ser hoje, amanhã está bom. E peça para Vianello mandar uma equipe examinar os dois lugares em busca de algum sinal de que foi lá que aconteceu.”
Bonsuan se levantou, os joelhos estralando audivelmente. Fez que sim.
“Há alguém lá embaixo que me leve à Piazzale Roma e depois ao cemitério?”
“Monetti”, respondeu o piloto, referindo-se a um dos colegas.
“Diga-lhe que eu vou sair daqui a dez minutos.”
Balançando a cabeça e murmurando “sim, senhor”, o piloto se retirou.
Brunetti se deu conta, subitamente, de que estava morrendo de fome. Tinha passado o dia com apenas três sanduíches, ou melhor, dois, já que Orso se encarregara de um deles. Abriu a última gaveta da escrivaninha, na esperança de achar alguma coisa, uma caixa de buranei, os biscoitos em forma de S que ele adorava e geralmente tinha de disputar com os filhos, uma barra de chocolate, mesmo que fosse velha, qualquer coisa. A gaveta estava tão vazia quanto na última vez que ele a abrira.
Só lhe restava contentar-se com um café. Mas isso significava mandar Monetti parar a lancha. Sua irritação com um problema tão banal lhe deu a dimensão da fome que estava sentindo. Brunetti se lembrou das moças do Ufficio Stranieri: sempre tinham alguma coisa a oferecer quando ele ia mendigar comida.
Descendo ao térreo pela escada dos fundos, entrou pela grande porta dupla da seção de estrangeiros. Sylvia, baixa e morena, e Anita, alta, loira e estonteante, estavam sentadas frente a frente, manuseando a papelada eternamente empilhada nas escrivaninhas.
“Buona sera”, disseram as duas, ao vê-lo, e voltaram a se ocupar das pastas verdes espalhadas diante delas.
“Alguém tem alguma coisa de comer?”, perguntou Brunetti sem a menor cerimônia.
Sylvia se limitou a sorrir e sacudir a cabeça; ele só entrava naquela sala para matar a fome ou comunicar que um dos aspirantes ao visto de residência ou à autorização de trabalho tinha sido preso e podia ser excluído das listas e arquivos.
“Não lhe dão comida em casa?”, perguntou Anita ao mesmo tempo que abria uma gaveta. Pegou um saco de papel pardo, tirou uma, depois outra, depois mais umas peras maduras e as colocou na borda da mesa, bem ao alcance da mão dele.
Três anos antes, ao saber que o visto de residência lhe fora negado, um imigrante argelino tivera um acesso de fúria, invadira a seção de estrangeiros e, agarrando Anita pelos ombros, jogara-a violentamente na escrivaninha. Estava com ela em seu poder, histérico, fuzilando insultos em árabe, quando Brunetti entrou em busca de um documento. Ao ver o que estava acontecendo, aplicou uma gravata no homem e o sufocou até que ele a soltasse. Anita se deixou cair, apavorada, chorando compulsivamente. Depois disso, ninguém voltou a falar no incidente, mas Brunetti sabia que sempre encontraria alguma coisa de comer na escrivaninha dela.
“Obrigado, Anita”, disse, escolhendo uma pêra. Tirou o talo e mordeu a fruta madura e perfeita. Devorando-a com cinco rápidas dentadas, serviu-se da segunda. Um pouco menos madura, porém doce e macia. Segurando os caroços úmidos na mão esquerda, apoderou-se da terceira, tornou a agradecer e saiu da sala. Estava revigorado para a incursão à Piazzale Roma e o encontro com a doutora Peters. A capitã Peters.
4
Brunetti chegou ao posto de carabinieri da Piazzale Roma às vinte para as sete; mandou Monetti ficar esperando na lancha até que ele retornasse com a médica. Percebeu, embora isso fosse a própria denúncia de seus preconceitos, que se sentia mais à vontade imaginando-a médica, não capitã. Havia telefonado avisando, antes de sair, de modo que os carabinieri sabiam que ele estava para chegar. Era a turminha de sempre, constituída principalmente de sulistas que pareciam nunca sair daquele posto saturado de fumaça, comportamento que Brunetti não conseguia entender. Os carabinieri nada tinham a ver com o controle do tráfego, mas a única coisa que havia na Piazzale Roma era isso: automóveis, trailers, táxis e, sobretudo no verão, filas intermináveis de ônibus que lá estacionavam o tempo necessário para desovar sua pesada carga de turistas. Desde o ano anterior, um novo tipo de veículo se incorporara aos demais, os lentos, pesados e fumarentos ônibus que lá queimavam diesel durante a noite, vindos da recém-liberada Europa Oriental, trazendo milhares de turistas atordoados de sono e cansaço da viagem, todos muito educados, muito pobres e muito atarracados; passavam um dia em Veneza e partiam deslumbrados com a beleza vista naquele único dia. Lá provavam o primeiro gostinho do capitalismo triunfante e se empolgavam demais para se dar conta de que grande parte dele não passava de máscaras de papel machê feitas em Taiwan e de renda tecida na Coréia.
Brunetti entrou no posto e trocou saudações efusivas com os dois policiais de plantão. “Até agora, nem sinal de la capitana”, disse um deles, acrescentando um riso de desdém pela idéia de uma mulher no posto de oficial do exército.
Ao ouvir isso, Brunetti decidiu dirigir-se a ela pela patente, pelo menos na presença daqueles dois, e demonstrar todo o respeito que a hierarquia lhe conferia. Não era a primeira vez que se sentia humilhado ao ver seus próprios preconceitos manifestos nos outros.
Ficou conversando à toa com os carabinieri. Que chance tinha o Napoli de ganhar no fim de semana? Maradona voltaria ao futebol? O governo ia cair? Pela porta de vidro, ficou observando o tráfego que invadia a Piazzale em ondas sucessivas. Os transeuntes iam em ziguezague, abrindo caminho entre carros e ônibus. Ninguém dava a mínima para a faixa de pedestres nem para as faixas brancas que, teoricamente, separavam as pistas. Mesmo assim, o trânsito fluía suave e rapidamente.
Um sedã verde-claro atravessou a pista dos ônibus e parou atrás das duas radiopatrulhas em azul e branco dos carabinieri. Um veículo quase anônimo, sem inscrições nem luz giratória na capota, sendo seu único sinal distintivo o “afi Official” na chapa. O motorista saiu e, inclinando-se, abriu a porta traseira para que uma moça de farda verde-oliva desembarcasse. Ao descer do carro, ela pôs o boné, olhou à sua volta e, enfim, localizou o posto de carabinieri.
Sem se dar ao trabalho de se despedir dos policiais, Brunetti foi ter com ela. “Doutora Peters?”, perguntou ao se aproximar.
A americana ergueu os olhos ao ouvir seu nome, avançou um passo e lhe apertou rapidamente a mão. Aparentava menos de trinta anos e trazia o cabelo castanho e crespo repuxado pela pressão do boné. Tinha olhos escuros, e sua pele ainda conservava o bronzeado do verão. Se sorrisse, ficaria lindíssima. Mas se limitou a encará-lo, apertando os lábios numa tensa linha reta, e a perguntar: “O senhor é o inspetor da polícia?”.
“Comissário Brunetti. A lancha está ali. Nós vamos para San Michele.” Notando-a intrigada, explicou. “É a ilha-cemitério. O corpo foi levado para lá.”
Sem esperar resposta, adiantou-se a ela e atravessou a rua na direção do atracadouro. Apressando-se a dizer alguma coisa ao motorista, a capitã tratou de segui-lo. Chegando à beira da água, Brunetti lhe mostrou a lancha azul e branca que os aguardava. “Por aqui, doutora”, disse, passando da calçada para o deque da embarcação. A recém-chegada o imitou, aceitando a mão que ele lhe oferecia. A saia lhe chegava um pouco abaixo dos joelhos. Suas pernas eram bonitas, bronzeadas e musculosas; os tornozelos, finos. Sem hesitar, ela segurou a mão de Brunetti com firmeza e subiu a bordo. Assim que os dois desceram à cabine e se sentaram, Monetti afastou a lancha do embarcadouro e tomou o rumo do Canale Grande. Passou velozmente pela estação ferroviária, as luzes azuis a piscar, e, virando à esquerda, entrou no Canale della Misericordia, que dava na ilha-cemitério.
Geralmente, quando transportava gente de fora na lancha da polícia, Brunetti mostrava a paisagem e os pontos pitorescos no caminho. Mas, dessa vez, limitou-se ao estritamente formal. “Espero que a senhora não tenha tido dificuldade para chegar, doutora.”
A moça baixou a vista e, olhando para a faixa de carpete verde que os separava, murmurou alguma coisa que ele tomou por um “não” e voltou a se calar. Brunetti notou que a capitã às vezes respirava fundo, esforçando-se para se acalmar, comportamento estranho numa pessoa que, afinal de contas, era médica.
Como se tivesse lido o seu pensamento, ela ergueu os olhos, abriu um lindo sorriso e disse: “Quando a gente conhece a pessoa, é diferente. Na faculdade de medicina, são sempre estranhos, é fácil manter uma distância profissional”. Fez uma longa pausa. “E gente da minha idade não morre a toda hora.”
Sem dúvida, era verdade. “Fazia tempo que vocês trabalhavam juntos?”
A americana fez que sim e ia começar a falar, mas, nesse momento, a lancha sacudiu bruscamente. Ela agarrou a borda do banco com as duas mãos e lhe endereçou um olhar assustado.
“Nós acabamos de entrar na laguna, em mar aberto. Não se preocupe, não há perigo.”
“Eu não sou uma boa marinheira. Nasci em Dakota do Norte, e lá não há muita água. Nem nadar eu sei.” Esboçou um sorriso frouxo, mas, em todo caso, um sorriso.
“Fazia tempo que a senhora e o senhor Foster trabalhavam juntos?”
“Sargento”, corrigiu ela automaticamente. “Fazia. Desde que eu cheguei a Vicenza, há uns sete meses. Aliás, é ele que cuida de tudo. O oficial só serve para assumir a responsabilidade. E assinar os papéis.”
“E para levar a culpa?”, sorriu Brunetti.
“Sim, sim, pode-se dizer. Mas nunca houve problemas. Não com Mike. Ele é um ótimo profissional.” Havia calor em sua voz. Estima? Afeto?
Abaixo deles, o ruído do motor se reduziu a um ronronar uniforme, e então se ouviu o baque seco da lancha entrando no cais do cemitério. Brunetti se levantou, subiu a escada estreita que levava ao deque e, parando no alto, segurou a porta vaivém para que a médica passasse. Monetti estava ocupado em prender as amarras nos postes de madeira fixados num ângulo absurdo com relação às águas da laguna.
Brunetti desembarcou e estendeu o braço. A moça aceitou o apoio e, segurando-o com força, saltou ao molhe. Ele notou que estava sem bolsa nem pasta, talvez as tivesse deixado no carro ou na lancha.
O cemitério fechava às quatro, de modo que foi preciso tocar a campainha à direita do portal de madeira. Minutos depois, um homem de uniforme azul abriu a folha da direita, e Brunetti se identificou. O funcionário escancarou a porta para que passassem. Adiantando-se, Brunetti foi para a entrada principal e parou junto à guarita do porteiro, onde tornou a se identificar, apresentando a credencial. Este os orientou a seguir pela arcada à direita. Ele agradeceu com um gesto. Conhecia o caminho.
Ao entrar no prédio do necrotério, sentiu a brusca mudança de temperatura. A dra. Peters também deve tê-la sentido, pois cruzou os braços no peito e baixou a cabeça. No fim do longo corredor, um funcionário todo de branco os aguardava sentado em uma escrivaninha vazia. Ao vê-los, levantou-se, tomando o cuidado de fechar o livro à sua frente. “Comissário?”, perguntou.
Brunetti confirmou com um movimento da cabeça. “Esta é a médica da base americana”, disse, fazendo um gesto na direção da capitã. Para quem estava acostumado a encarar a morte com tanta freqüência, uma mulher fardada não chegava a ser uma grande surpresa, de modo que o homem passou rapidamente por eles e abriu a pesada porta de madeira à esquerda.
“Como vocês vinham, eu já o trouxe para cá”, informou, indicando a maca de metal junto à parede. Os três sabiam quem estava embaixo do lençol branco. Ao se aproximar do cadáver, o funcionário olhou para a dra. Peters, que respondeu com um gesto afirmativo. Quando ele ergueu o lençol, ela olhou para o rosto do morto; e Brunetti, para o dela. No primeiro momento, a capitã não mudou de expressão, mas logo fechou os olhos e prendeu o lábio superior entre os dentes. Se o que pretendia era refrear as lágrimas, não conseguiu, pois elas afloraram e começaram a escorrer. “Mike, Mike”, murmurou, virando-se para o outro lado.
Brunetti fez um sinal para que o funcionário cobrisse o rosto do morto.
Sentiu a mão dela em seu braço, apertando-o com uma força surpreendente. “Quem o matou?”
Ele recuou, tentando tirá-la de lá, mas a americana o agarrou com mais força e repetiu: “Quem o matou?”.
Brunetti lhe segurou a mão. “Venha, vamos sair daqui.”
Inesperadamente, a moça se desvencilhou dele, aproximou-se uma vez mais da maca, e puxou o lençol, descobrindo o cadáver até a cintura. A enorme incisão da autópsia, que se estendia do umbigo ao pescoço, tinha sido costurada com pontos grosseiros. Sem sutura, a pequena linha horizontal que o matara parecia inofensiva em comparação com o corte aberto pelo médico-legista.
Num longo e trêmulo gemido, ela repetiu: “Mike, Mike”. E, sem parar de gemer, continuou junto do corpo, assumindo uma postura estranhamente ereta e rígida.
O funcionário do necrotério se apressou a recolocar o lençol no lugar, cobrindo as duas cicatrizes e o rosto de Foster.
A americana se virou para Brunetti, e ele viu as lágrimas em seus olhos, mas também viu outra coisa neles, algo que lembrava nada menos que pavor, um pavor animal.
“Está passando mal, doutora?”, perguntou em voz baixa, tendo a cautela de não tocá-la, de não se aproximar.
Sacudindo a cabeça, a capitã mudou de expressão. Voltou-se repentinamente e se dirigiu à porta. Antes de chegar, parou subitamente, olhou à sua volta, como que surpresa por estar num necrotério, e então correu para a pia na parede oposta. Debruçou-se e, cedendo a um violento mal-estar, vomitou copiosamente; depois, envolvendo-se nos próprios braços, ofegante, curvou-se sobre a pia e assim ficou.
O funcionário do necrotério acudiu rapidamente e lhe entregou uma toalha branca. Ela agradeceu com um gesto e enxugou o rosto. Com uma estranha delicadeza, o rapaz lhe tomou o braço e a conduziu a outra pia, poucos metros adiante, na mesma parede. Abriu a torneira de água quente, depois a de água fria, experimentou a temperatura até que lhe parecesse adequada. Estendeu a mão e ficou segurando a toalha enquanto a moça lavava o rosto e a boca. Então lhe devolveu a toalha, fechou as duas torneiras e saiu por outra porta.
A capitã dobrou a toalha e a deixou na borda da pia. Ao voltar para junto de Brunetti, procurou não olhar para a maca com o cadáver agora coberto.
Ele aguardou que ela se aproximasse, abriu a porta, e os dois voltaram para o ar mais quente da noite. Estavam percorrendo as longas arcadas quando a capitã disse: “Desculpe. Não sei por que isso aconteceu. Eu já vi muitas autópsias. Já fiz autópsias”. Sacudiu a cabeça várias vezes. Brunetti, que era bem mais alto que ela, observou o gesto de soslaio.
Só para completar a formalidade, perguntou: “É o sargento Foster?”.
“É”, respondeu a capitã sem vacilar, mas ele percebeu que foi com muito esforço que manteve a voz calma e uniforme. Até mesmo o seu andar estava mais rígido do que na chegada, como se tivesse deixado a farda dominar seus movimentos.
Passando pelo portão do cemitério, Brunetti a levou ao lugar onde Monetti atracara a lancha. Ele estava sentado na cabine, lendo um jornal. Ao vê-los, dobrou-o e, indo para a popa, puxou o calabre a fim de aproximar a embarcação do cais e facilitar o embarque.
Dessa vez, a capitã subiu a bordo e foi imediatamente para a cabine. Brunetti se deteve apenas o suficiente para cochichar ao piloto: “Vá o mais devagar que puder”.
Agora sentada mais à frente, a americana se virou para a janela da dianteira. O sol acabava de se pôr, e, à esquerda, a luz do crepúsculo mal iluminava o horizonte da cidade. Brunetti se instalou diante dela, notando como estava tensa e rígida.
“Ainda há muitas formalidades, mas acho que amanhã conseguiremos liberar o corpo.”
Ela se limitou a balançar a cabeça.
“O que o exército vai fazer?”, perguntou ele.
“Como?”
“O que o exército faz nesses casos?”
“Nós vamos mandar o corpo para os Estados Unidos, para a família.”
“Não, eu não estou me referindo ao cadáver. Estou falando sobre a investigação.”
A moça se voltou e o fitou nos olhos. Brunetti teve a impressão de que sua perplexidade era simulada. “Como assim? Que investigação?”
“Para descobrir por que o mataram.”
“Mas não foi um assalto?”, perguntou ela como que lhe pedindo que confirmasse a hipótese.
“Pode ser que sim, mas eu duvido.”
Ao ouvir isso, a capitã se voltou e olhou pela janela, mas a paisagem de Veneza já havia sido tragada pela noite, e ela não viu senão o seu próprio reflexo no vidro.
“Quanto a isso, eu não sei nada”, disse com insistência na voz.
Para Brunetti, foi como se a americana acreditasse que a frase passaria a ser verdadeira se a repetisse muitas e muitas vezes. “Como ele era?”
A moça demorou um pouco a responder, mas, quando o fez, Brunetti achou a resposta estranha, sobretudo em se tratando de um rapaz tão jovem: “Íntegro. Era um homem íntegro”.
Ele esperou que acrescentasse alguma coisa, mas isso não aconteceu. “A senhora o conhecia bem?”, perguntou, observando-lhe não o rosto, mas seu reflexo na janela do barco. Embora já não estivesse chorando, a tristeza se fixara em suas feições. Ela respirou fundo e disse: “Eu o conhecia muito bem”. Então sua voz mudou, tornou-se mais natural e relaxada. “Nós trabalhamos sete meses juntos.” E se calou.
“O que ele fazia? O capitão Duncan disse que era inspetor de saúde pública, mas acho que não sei o que é isso.”
Quando seus olhares se encontraram no vidro, a capitã se virou para encará-lo. “Inspecionava os apartamentos onde nós moramos. Quer dizer, nós americanos. Ou quando um locador se queixava do inquilino, era ele que se encarregava de investigar.”
“Que mais?”
“Ia às embaixadas atendidas pelo nosso hospital. No Egito, na Polônia, na Iugoslávia, e vistoriava as cozinhas, verificava se estavam limpas.”
“Então ele viajava muito.”
“Bastante.”
“E gostava do trabalho?”
A capitã respondeu sem vacilar e com muita ênfase: “Gostava muito. Achava-o importante”.
“E a senhora era a sua superior?”
Ela esboçou um sorriso. “Pode-se dizer que sim, creio. Na verdade, eu sou pediatra; só fui designada para a saúde pública porque eles precisavam da assinatura de um oficial e, em alguns casos, a de um médico. Mike administrava tudo praticamente sozinho. Às vezes me dava um papel para assinar ou me pedia que fizesse uma solicitação de material. Tudo é mais rápido quando o pedido é feito por um oficial.”
“A senhora o acompanhava nas viagens, nessas visitas às embaixadas?”
Se a pergunta lhe pareceu estranha, Brunetti não soube dizer, pois ela tornou a virar o rosto para a janela. “Não, Mike sempre ia sozinho.” Levantou-se de súbito e foi para a escada no fundo da cabine. “Esse seu motorista ou o que for conhece o caminho? Tenho a impressão de que a viagem de volta está demorando muito.” Abriu uma folha da porta e olhou para os dois lados, mas os prédios que circundavam o canal lhe eram desconhecidos.
“É assim mesmo, a volta demora mais”, mentiu Brunetti. “Há muitos canais de sentido único, e é preciso contornar toda a estação para chegar à Piazzale Roma.” Viu que acabavam de entrar no Canale di Canareggio. Chegariam em cinco minutos ou até menos.
A moça saiu para o deque. Uma súbita rajada de vento quase lhe arrebatou o boné, ela o segurou, depois o tirou. E ficou ainda mais linda sem ele.
Brunetti subiu a escada e se colocou a seu lado. A lancha entrou à direita no Canale Grande. “Que bonito”, disse ela. Mas logo mudou o tom de voz. “Por que o senhor fala inglês tão bem?”
“Eu estudei inglês no colégio e na universidade, depois morei algum tempo nos Estados Unidos.”
“Fala muito bem mesmo.”
“Obrigado. E a senhora fala italiano?”
“Un poco”, sorriu ela. “Molto poco”, acrescentou.
Brunetti avistou o atracadouro da Piazzale Roma logo adiante. Colocando-se à frente da americana, pegou o calabre e se preparou para amarrar a embarcação enquanto Monetti se aproximava da pilastra. Passou-o por cima dela e o prendeu com nó de marinheiro. O piloto desligou o motor, e ele saltou ao cais. Segurando-lhe a mão com familiaridade, a capitã desembarcou. Os dois foram juntos para o carro, que continuava estacionado em frente ao posto de carabinieri.
Ao vê-la, o motorista saiu às pressas, bateu continência e abriu a porta. Alisando a saia, ela se instalou no banco traseiro. Brunetti estendeu o braço diante do motorista, impedindo-o de fechar a porta. “Obrigado por ter vindo, doutora”, disse, curvando-se e apoiando a mão na capota do automóvel.
“De nada”, respondeu ela, sem lhe agradecer por tê-la acompanhado a San Michele.
“Espero revê-la em Vicenza”, disse ele, atento à sua reação.
E a reação da capitã foi súbita e intensa, e em seus olhos voltou a se estampar o medo que demonstrara ao ver o ferimento que havia matado Foster. “Por quê?”
Brunetti sorriu. “Talvez eu acabe descobrindo por que o mataram.”
A moça estendeu o braço e puxou a porta, obrigando-o a recuar. Fechou-a e, inclinando-se no banco, disse qualquer coisa ao motorista, que arrancou imediatamente. Brunetti ficou observando o carro entrar no tráfego intenso da Piazzale Roma e subir a ladeira rumo ao viaduto. Perdeu-o de vista quando ele chegou ao alto, um veículo anônimo retornando ao continente depois de um passeio por Veneza.
5
Sem olhar para o posto de carabinieri para ver se tinham notado seu retorno com a capitã, Brunetti foi diretamente para a lancha, onde encontrou Monetti entretido com um jornal. Anos antes, um estrangeiro — ele já não recordava quem — observara que os italianos liam muito devagar. Desde então, pensava nisso sempre que via alguém com o nariz metido no mesmo jornal durante toda a viagem de Veneza a Milão; o jovem piloto tivera tempo de sobra, mas parecia ainda estar nas primeiras páginas. Talvez o tédio o tivesse obrigado a retomar a leitura do começo.
“Obrigado, Monetti”, disse, saltando ao convés.
O rapaz o fitou e sorriu. “Eu tentei vir o mais devagar possível, senhor. Mas não é fácil com esses malucos colados na traseira da gente.” Brunetti já tinha mais de trinta anos quando aprendeu a dirigir, forçado por uma transferência de três anos para Nápoles. E guiava mal, com apreensão, excessivamente devagar, sempre irritado com aqueles mesmos malucos, no caso, os que dirigiam automóveis, não barcos.
“Você me dá uma carona até San Silvestro?”, perguntou.
“Se o senhor quiser, posso levá-lo até o fim da calle.”
“Obrigado Monetti. Eu quero, sim.”
Soltou a corda da pilastra de amarração e a enrolou cuidadosamente na barra metálica da lateral da lancha. Foi para a frente e se colocou ao lado do piloto bem quando a lancha enveredou pelo Canale Grande. Pouca coisa lhe interessava naquela parte da cidade, sem dúvida alguma, o que a ilha tinha de mais parecido com uma favela. Passaram pela estação ferroviária, uma edificação que surpreendia pela sordidez.
Para Brunetti, seria fácil tornar-se indiferente à beleza da cidade, percorrê-la, olhando sem realmente ver. Mas sempre acontecia: eis que uma janela em que ele nunca reparara entrava em seu campo visual ou a luz do sol incidia em uma arcada, e algo infinitamente mais complexo do que a beleza lhe apertava o coração. Quando se dava ao trabalho de pensar nisso, presumia que tinha a ver com a língua, com o fato de menos de oitenta mil pessoas morarem naquela cidade e talvez com a circunstância de ter freqüentado um jardim-de-infância instalado num palazzo do século xv. Ficava com saudade da cidade quando viajava, quase tanto quanto de Paola, e só se sentia pleno e completo quando estava lá. Bastava olhar à sua volta, seguindo pelo canal, para comprovar a sabedoria encerrada naquilo tudo. Nunca falava disso com ninguém. Nenhum estrangeiro entenderia; para qualquer veneziano seria redundante.
Assim que passou sob a Rialto, Monetti deslocou o barco para a direita. No fim da longa calle que levava ao prédio de Brunetti, engatou o ponto morto e se deteve um brevíssimo instante junto ao paredão para que ele desembarcasse de um salto. Sem lhe dar tempo de se virar para agradecer com um aceno, fez o balão e, retomando o caminho pelo qual tinha vindo, as luzes azuis a piscar, foi para casa jantar.
Brunetti seguiu pela calle, as pernas doloridas de tanto embarcar e desembarcar, coisa que parecia ter feito o dia inteiro, desde que a primeira lancha fora buscá-lo em casa doze horas antes. Abriu a porta enorme, entrou no edifício e a fechou devagar. A escada estreita, que subia em caracol, era uma verdadeira caixa de ressonância, tanto que, quatro andares acima, eles ouviam perfeitamente quando batiam a porta. Quatro andares. A idéia o desanimou.
Ao chegar à ultima curva da escada, sentiu um cheiro bom de cebola frita, coisa que o ajudou muito a vencer o último lance. Consultou o relógio antes de enfiar a chave na fechadura. Nove e meia. Chiara ainda devia estar acordada, de modo que ele pelo menos poderia lhe dar um beijo de boa-noite e perguntar se ela fizera a lição de casa. Caso Raffaele estivesse desperto, dificilmente Brunetti poderia arriscar o beijo, e a pergunta seria vã.
“Ciao, papà”, gritou a menina da sala de estar. Ele pendurou o paletó no armário e entrou no corredor que dava na sala. Chiara estava refestelada na poltrona, um livro aberto no colo.
Ao entrar, Brunetti acendeu automaticamente o abajur da poltrona. “Você quer ficar cega?”, perguntou pela setingentésima vez.
“Oh, papà, mas está dando para ler.”
Ele se inclinou e beijou a bochecha que ela lhe ofereceu. “O que você está lendo, meu anjo?”
“Um livro que a mamãe me deu. É lindo. A história de uma governanta que vai trabalhar para um homem, e os dois se apaixonam, mas ele é casado com uma maluca que vive trancada no sótão, por isso não pode casar com a governanta, só que eles estão superapaixonados. Eu estou na parte em que a casa pega fogo. Tomara que ela morra queimada.”
“Ela quem, Chiara? A governanta ou a esposa?”
“A esposa, é claro.”
“Por quê?”
“Assim Jane Eyre”, disse ela com um sotaque que desfigurou o nome da personagem, “pode se casar com o senhor Rochester”, palavra pronunciada com igual violência.
Não houve tempo de dar prosseguimento à conversa, pois a menina voltou imediatamente ao incêndio, e a Brunetti só restou ir para a cozinha, onde encontrou Paola agachada diante da lava-louças.
“Ciao, Guido”, disse ela, levantando-se. “O jantar sai em dez minutos.” Beijou-o e foi para o fogão, onde as cebolas estavam dourando numa frigideira cheia de azeite.
“Eu acabo de ter uma discussão literária com a nossa filha. Ela me explicou a trama de um clássico da literatura inglesa. Acho melhor a gente obrigá-la a assistir novelas brasileiras na televisão. A menina está torcendo para que a senhora Rochester morra queimada.”
“Ora, Guido, qualquer um torce para o incêndio quando lê Jane Eyre.” Paola mexeu a cebola antes de prosseguir. “Bom, pelo menos quando o lê pela primeira vez. Só depois é que percebe que Jane Eyre não passa de uma piranha matreira e uma falsa moralista.”
“É isso que você ensina aos seus alunos?”, ele perguntou, abrindo o armário e pegando uma garrafa de Pinot Noir.
As iscas de fígado estavam aguardando numa travessa ao lado do fogão. Com uma escumadeira, Paola colocou a metade delas na frigideira e se afastou para não ser atingida pelos respingos de azeite. Deu de ombros. As aulas da faculdade acabavam de recomeçar, e era óbvio que não tinha a menor vontade de pensar nos alunos nas horas livres.
Perguntou em tom provocador: “E a capitã-médica como é?”.
Brunetti serviu dois copos de vinho. Encostou-se na bancada, entregou-lhe um e tomou um gole. “Muito jovem e muito nervosa”, respondeu. “E muito bonita também”, acrescentou, consciente da provocação.
Paola sorveu o vinho e o encarou.
“Nervosa por quê?” Tomou mais um trago e ergueu o cálice contra a luz. “Este aqui não é tão bom quanto o que nós compramos de Mário.”
“Não”, concordou Brunetti. “Mas o seu primo Mário está tão empenhado em crescer no comércio internacional de vinho que não tem tempo para encomendas modestas como a nossa.”
“Talvez ele tivesse mais tempo se você se lembrasse de pagar.”
“Ora, Paola. Isso foi há seis meses.”
“É. Só que Mário esperou bem mais do que seis meses para receber.”
“Sinto muito, Paola. Eu achei que tivesse pagado e não pensei mais no assunto. Já pedi desculpas.”
Sem dizer nada, ela pôs o copo na mesa e mexeu rapidamente o fígado.
“Paola, eram só duzentas mil liras. O seu primo Mário não iria à falência por causa disso.”
“Por que você sempre se refere a ele como ‘o seu primo Mário’?”
Por pouco Brunetti não respondeu “porque ele é seu primo e se chama Mário”, mas preferiu pôr o copo na bancada e abraçá-la. Paola enrijeceu o corpo, tentou afastá-lo. Ele intensificou a pressão dos braços até que ela se relaxou e, cedendo, reclinou a cabeça em seu peito.
Ficaram assim algum tempo, mas Paola não tardou a lhe cutucar as costelas com o cabo da escumadeira, dizendo: “O fígado vai queimar!”.
Brunetti a soltou e voltou a se ocupar do vinho.
“Eu não sei por que ela estava nervosa, mas ficou arrasada ao ver o corpo.”
“Qualquer um fica arrasado ao ver um cadáver, principalmente o de um conhecido.”
“Sim, mas não é isso. Eu tenho certeza de que havia alguma coisa entre eles.”
“Que coisa?”
“A de sempre.”
“Bom, você não disse que ela é bonita?”
Brunetti sorriu. “Linda.” Paola sorriu. “Linda e muito...” Ele se interrompeu, procurando a palavra exata. Mas a palavra exata não tinha o menor sentido. “Muito assustada.”
“Como assim?”, perguntou ela ao mesmo tempo que levava a frigideira para a mesa e a colocava num descanso de cerâmica. “Assustada por quê? Por acaso alguém suspeita dela?”
Pegou a tábua grande, que estava perto do fogão, e a levou para a mesa. Brunetti se sentou e ergueu o pano de prato que a cobria, descortinando o dourado panorama da polenta em forma de meia-lua, ainda quente, mas já bem firme. Paola trouxe a salada e a garrafa de vinho e encheu os dois copos antes de se sentar.
“Não, duvido que seja isso”, disse ele, servindo-se do fígado acebolado e de um bom pedaço de polenta. Espetou uma isca com o garfo, cobriu-a de cebola com a ajuda da faca e se pôs a comer. Como era seu hábito, não disse uma palavra antes de esvaziar o prato. Devorado o fígado, embebeu no molho o que restava do segundo pedaço de polenta. “Creio que ela sabe ou pelo menos tem idéia de quem o matou. Ou de por que o mataram.”
“Como assim?”
“Se você tivesse visto a cara que fez... Não quando viu que era mesmo Foster e que ele estava morto, mas quando viu o que o matou; a moça entrou em pânico. Chegou a passar mal.”
“Ela passou mal?”
“Vomitou.”
“No necrotério?”
“É. Esquisito, não acha?”
Paola refletiu um pouco antes de responder. Terminou o vinho, serviu-se de mais meio copo. “Sim. É uma reação estranha. E ela é médica?” Brunetti fez que sim. “Não tem sentido. Do que estaria com medo?”
“Qual é a sobremesa hoje?”
“Figos.”
“Eu te adoro.”
“Você adora figos”, sorriu Paola.
Havia seis figos, todos perfeitos, polpudos e muito doces. Brunetti pegou a faca e começou a descascar o primeiro. Ao terminar, as mãos lambuzadas, cortou-o pela metade e ofereceu o pedaço maior à esposa.
Enfiou na boca quase toda a parte que lhe cabia e enxugou o suco que lhe escorreu no queixo. Terminado esse, atacou mais dois, limpou a boca e as mãos com o guardanapo e disse: “Agora, se você me der um cálice de porto, eu serei um homem completamente feliz”.
Levantando-se, Paola perguntou: “Do que mais essa moça pode estar com medo?”.
“Como você mesma disse, de que suspeitem que ela tenha envolvimento com a coisa. Ou porque tem mesmo.”
Ela apanhou a garrafa de porto, mas antes de servir dois pequenos cálices e levá-los à mesa, tirou os pratos e os colocou na pia. A doçura da bebida misturou-se com o que restava do gosto do figo. Um homem completamente feliz. “Mas eu não acredito em nada disso.”
“Não?”
Brunetti deu de ombros.“Não. Ela não tem cara de assassina.”
“Porque é bonita?”, perguntou Paola, tomando o porto.
Ele quase respondeu que era pelo fato de ela ser médica, mas lembrou que Rizzardi havia dito que o assassino do rapaz sabia perfeitamente onde enfiar a faca. Um médico saberia. Ou uma médica. “Talvez”, disse, mas tratou de mudar de assunto. “Raffi está em casa?” Consultou o relógio. Passava das dez. Seu filho sabia que, no período escolar, tinha de estar de volta às dez horas em ponto.
“Não, a não ser que tenha chegado quando a gente estava jantando.”
“Não, não chegou”, atalhou Brunetti, seguro da resposta, mas sem saber por que tinha tanta certeza assim.
Era tarde, eles haviam tomado uma garrafa de vinho, comido figos deliciosos, estavam saboreando um porto magnífico. Nenhum dos dois queria falar no filho. No dia seguinte, ele estaria lá e continuaria sendo deles.
“Quer que eu termine de tirar a mesa?”, ofereceu Brunetti sem muito entusiasmo.
“Não, pode deixar. Prefiro que você leve Chiara para a cama.” Seria bem mais fácil tirar a mesa.
“Já apagaram o incêndio?”, perguntou ele ao entrar na sala.
A menina não respondeu. Afundada na poltrona, as pernas esticadas, estava a centenas de quilômetros e de anos dali. No braço da poltrona, repousavam as sementes de duas maçãs; no chão, um pacote de biscoitos.
“Chiara”, disse ele em voz alta. “Chiara!”
Ela tirou os olhos do livro, fitou-o sem vê-lo a princípio, então, dando-se conta de que era apenas seu pai, retomou a leitura sem fazer caso dele.
“Hora de dormir, Chiara”
Ela virou a página.
“Chiara, você ouviu o que eu disse? Vá para a cama.”
Sem interromper a leitura, a menina se levantou devagar, apoiando-se numa das mãos. Chegando ao fim da página, fez uma breve pausa para beijá-lo e foi para o quarto sem se esquecer de marcar a página com o dedo. Brunetti não teve coragem de lhe tomar o livro. Se acordasse durante a noite, apagaria a luz do quarto dela.
Paola entrou na sala. Curvando-se, apagou o abajur ao lado da poltrona, recolheu as sementes de maçã, o que restava dos biscoitos, e voltou para a cozinha. Brunetti apagou a luz, entrou no corredor e foi para o quarto.
6
Na manhã seguinte, Brunetti chegou à questura às oito horas; tinha parado no caminho para comprar os jornais. O assassinato aparecia na décima primeira página do Corriere, que não lhe dedicava mais que dois parágrafos, e nem chegava a ser mencionado no La Repubblica, o que não deixava de ser compreensível, já que aquele dia era o aniversário do mais sangrento atentado terrorista dos anos 60, mas estava estampado na primeira página do segundo caderno do Il Gazzettino, ao lado de uma reportagem, esta com fotografia, sobre três rapazes que tinham se estatelado numa árvore na rodovia federal entre Dolo e Mestre.
Segundo a matéria, tudo indicava que o rapaz, cujo nome fora publicado como Michele Fooster, tinha sido vítima de assalto à mão armada. Havia suspeita de drogas, ainda que a reportagem, bem à maneira do Gazzettino, não se desse ao trabalho de especificar como nem por quê. Às vezes, Brunetti pensava, com seus botões, que era uma sorte para a Itália que uma imprensa responsável não figurasse entre os requisitos para ingressar no Mercado Comum.
Na questura, ele passou pela fila habitual de malvestidos e mal calçados imigrantes do Norte da África e da recém-liberada Europa Oriental. Não conseguia olhar para aquele alinhamento de seres humanos sem ser tomado por um sentimento de ironia histórica: três gerações de sua família haviam deixado a Itália para arriscar a sorte em lugares remotos como a Austrália e a Argentina. Agora, numa Europa transformada pelos últimos acontecimentos, a Itália havia se transformado no Eldorado de novas levas de imigrantes ainda mais pobres, ainda mais escuros. Muitos amigos seus falavam nessa gente com desprezo, nojo e até ódio, mas Brunetti não conseguia vê-los sem lhes superpor a imagem fantasiosa de seus próprios antepassados, que enfrentaram filas semelhantes, também eles malvestidos e mal calçados, falando uma língua incompreensível, dispostos a limpar a sujeira e a criar os filhos de qualquer um que pagasse.
Subiu a pé ao quarto andar, dando bom-dia a uma ou duas pessoas, cumprimentando outras apenas com um aceno. No escritório, verificou se havia papéis novos na escrivaninha. Não tendo encontrado nada, sentiu-se livre para fazer o que bem entendesse. E achou conveniente pegar o telefone e pedir uma ligação para o posto de carabinieri da base militar americana de Vicenza.
Foi consideravelmente mais fácil achar esse número, de modo que, em poucos minutos, estava falando com o maggiore Ambrogiani, que lhe contou que tinha sido incumbido da investigação italiana do assassinato de Foster.
“Italiana?”, perguntou Brunetti.
“Bom, a nossa investigação é separada da dos americanos.”
“Então há problemas de jurisdição?”
“Não, acho que não”, respondeu o outro. “Vocês em Veneza, a polícia civil, estão encarregados da investigação aí. Mas vão precisar da autorização ou da ajuda dos americanos em tudo que tiverem de fazer aqui.”
“Aí em Vicenza?”
Ambrogiani riu. “Não, nem tanto. Só aqui na base. Na cidade de Vicenza, os responsáveis somos nós, os carabinieri. Mas, dentro da base, a responsabilidade é dos americanos, e são eles que vão ajudá-los.”
“Mas o senhor parece ter dúvidas quanto a isso, maggiore.”
“Não, de jeito nenhum.”
“Então devo ter interpretado mal o seu tom de voz.” Mas Brunetti achava que o havia interpretado muito bem. “Eu quero ir até aí e conversar com as pessoas que o conheciam, que trabalhavam com ele.”
“São americanos, na maioria”, informou Ambrogiani, deixando que ele tirasse suas próprias conclusões quanto às possíveis dificuldades com o idioma.
“Eu falo bem inglês.”
“Então não vai ter problemas para conversar com eles.”
“Quando posso ir?”
“Quando quiser, comissário, agora de manhã, hoje à tarde.”
Brunetti abriu a última gaveta da escrivaninha e, pegando o horário dos trens, folheou-o à procura da linha Veneza—Milão. Dali a uma hora partia um. “Eu vou no das nove e vinte e cinco.”
“Está bem. Eu mando um carro ir buscá-lo.”
“Obrigado, maggiore.”
“Às suas ordens, comissário. Terei prazer em conhecê-lo.”
Seguiu-se uma breve troca de amenidades, e então Brunetti desligou. A primeira coisa que fez foi abrir o armário, na parede oposta, e vasculhar as coisas empilhadas lá dentro: um par de botas, três lâmpadas em caixas separadas, uma extensão elétrica, algumas revistas velhas e uma pasta de couro marrom. Pegou-a e a espanou com a mão. Levando-a para a escrivaninha, nela guardou os jornais e algumas fichas de funcionários que ainda precisava ler. Tirou da primeira gaveta um exemplar da Panorama de três semanas antes e a acrescentou à bagagem.
Conhecia bem o trajeto: a estrada de Milão, que atravessava o quadriculado de plantações estorricadas e tristemente enegrecidas pela seca do verão. Tratou de se instalar no lado direito do vagão para escapar do sol, que continuava escaldante em setembro, apesar de já abrandada a ferocidade do verão. Em Pádua, a segunda parada, legiões de estudantes universitários invadiram o trem, todos eles levando compêndios recém-comprados como se fossem talismãs capazes de conduzi-los a um futuro seguro e melhor. Ele se lembrou dessa sensação, dessa renovação anual do otimismo que costumava visitá-lo nos tempos da faculdade, quando os cadernos virgens traziam consigo a promessa de um ano melhor, de um destino mais promissor.
Em Vicenza, desembarcou e perscrutou a plataforma em busca de um homem fardado. Não vendo nenhum, desceu a escada, atravessou a passagem subterrânea sob os trilhos e tornou a subir. Avistou imediatamente o sedã azul, com o brasão dos carabinieri, estacionado arrogante e desnecessariamente numa diagonal em frente à estação, o motorista concentradíssimo num cigarro e nas páginas rosadas do Gazzettino dello Sport.
Bateu na janela traseira. Virando lentamente a cabeça, o carabiniere apagou o cigarro e estendeu o braço para destravar a porta. Ao abri-la, Brunetti pensou em quanto as coisas eram diferentes no Norte. No Sul da Itália, qualquer carabiniere que ouvisse um ruído inesperado na traseira da radiopatrulha se jogaria imediatamente no chão ou tomaria posição na calçada ao lado, a arma em punho, talvez já atirando em quem tivesse provocado o barulho. Porém lá, na sonolenta Vicenza, ele simplesmente abriu a porta e, sem fazer perguntas, deixou o desconhecido embarcar.
“Inspetor Bonnini?”, perguntou.
“Comissário Brunetti.”
“De Veneza?”
“É.”
“Bom dia. Eu vou levá-lo à base.”
“Fica longe?”
“Cinco minutos.” Dizendo isso, o motorista jogou o jornal no banco ao seu lado, o último triunfo de Schilacci exposto a qualquer torcedor, e ligou o motor. Sem tomar o cuidado de olhar para a direita ou para a esquerda, saiu da vaga de estacionamento e mergulhou diretamente no trânsito que fluía. Contornou a cidade, cortando caminho para o oeste, na direção de onde Brunetti viera.
Fazia pelo menos uma década que ele não ia a Vicenza, mas a recordava como uma das cidades mais agradáveis da Itália, seu centro cortado por ruelas sinuosas, ao longo das quais se erguiam palazzi renascentistas e barrocos, todos agrupados a esmo, sem preocupação com a simetria, a cronologia ou o planejamento. Dessa vez, porém, passaram por um gigantesco estádio de futebol de concreto, por um viaduto altíssimo e, em seguida, por uma das novas viales que brotavam em toda a Itália continental, numa rendição ao triunfo do automóvel.
Sem dar nenhum sinal, o motorista virou subitamente à esquerda e entrou numa via estreita, limitada, à direita, por um muro de cimento com arame farpado no alto. Do outro lado, Brunetti viu uma enorme antena parabólica. O carro descreveu uma curva ampla à direita e se aproximou de um portão aberto, ao lado do qual havia alguns soldados armados. Eram dois carabinieri com as metralhadoras balançando descuidadamente a tiracolo e um militar americano com farda de combate. O motorista diminuiu a velocidade, acenou com displicência para os carabinieri, que retribuíram com gestos e mesuras, e entrou na base. Brunetti reparou que, embora os tivesse acompanhado com o olhar, o norte-americano não fizera menção de detê-los. Dobraram rapidamente à direita, novamente à direita, e pararam em frente a um prédio baixo de alvenaria. “É o nosso quartel-general”, anunciou o motorista. “O escritório do maggiore Ambrogiani é a quarta porta à direita.”
Brunetti agradeceu e entrou no edifício deserto. O piso parecia ser de cimento, as paredes estavam repletas de quadros de aviso escritos tanto em inglês quanto em italiano. À esquerda, viu uma placa “Posto da pe”. Um pouco mais adiante, viu uma porta com o nome “Ambrogiani” impresso num cartão ao lado. Nenhum título, apenas o nome. Bateu, aguardou que gritassem “Avanti” e entrou. Escrivaninha, duas janelas, uma planta pedindo desesperadamente que a regassem, um calendário e, sentado à escrivaninha, um homem do tamanho de um touro, cujo pescoço estava em indisfarçável conflito com o apertado colarinho da camisa. Os ombros largos ameaçavam rasgar a túnica; até mesmo seus pulsos pareciam grandes demais para as mangas. Nos ombros, Brunetti viu a torre achatada e a estrela de major. O grandalhão se levantou ao vê-lo entrar, consultou o relógio que lhe apertava o pulso e perguntou: “Comissário Brunetti?”.
“Às suas ordens.”
O sorriso que iluminou o rosto do carabiniere foi quase angelical de tanta cordialidade e modéstia. Santo Deus, o homem tinha covinhas! “Que bom que o senhor veio de Veneza para cuidar disso.” Ambrogiani contornou a mesa com uma agilidade surpreendente e puxou uma cadeira em frente. “Sente-se. Aceita um café? Pode pôr a pasta aí na escrivaninha.” Ficou esperando a resposta de Brunetti.
“Sim, um café seria bom.”
O maggiore foi até a porta, abriu-a e disse a alguém do lado de fora:
“Pino, traga dois cafés e uma garrafa de água mineral.”
Voltou à sala e sentou-se. “Sinto não ter podido mandar um carro buscá-lo em Veneza, mas atualmente é difícil conseguir autorização para sair da província. Fez boa viagem?”
Brunetti sabia, por experiência, que era necessário gastar um bom tempo naquele tipo de coisa, tateando, apalpando, avaliando a outra pessoa, e a única maneira de fazê-lo era com graça e amabilidade.
“A viagem foi boa, sem problemas. O trem não atrasou. Em Pádua havia milhares de estudantes.”
“O meu filho estuda lá, na universidade”, informou Ambrogiani.
“É mesmo? Que curso está fazendo?”
“Medicina”, disse o outro, sacudindo a cabeça.
“Não é uma boa faculdade?”, perguntou Brunetti, sinceramente intrigado. Sempre tinha ouvido dizer que a escola de medicina da Universidade de Pádua era a melhor do país.
“Não, não é isso”, respondeu o maggiore, sorrindo. “Eu não gostei da profissão que ele escolheu, a medicina.”
“Não?”, surpreendeu-se Brunetti. Esse era o próprio sonho italiano, um policial com o filho na faculdade de medicina. “Por quê?”
“Eu queria que ele fosse pintor.” O homem tornou a sacudir tristemente a cabeça. “Mas ele resolveu ser médico.”
“Pintor?”
“É”, respondeu Ambrogiani. Abriu um sorriso constelado de covinhas. “Mas não de parede.” Apontou vagamente para as paredes do escritório, e Brunetti notou que estavam decoradas com pequenos quadros, paisagens na maioria, algumas com castelos em ruínas, todas pintadas num estilo delicado, imitando a escola napolitana do século xviii.
“São do seu filho?”
“Não”, disse Ambrogiani, “aquele é.” Apontou para um quadro à esquerda da porta, o retrato de uma velha que olhava diretamente para o observador e tinha uma maçã meio descascada entre as mãos. Faltava-lhe a delicadeza dos outros, embora não deixasse de ser bom no sentido convencional.
Se as paisagens fossem do filho, Brunetti teria compreendido a mágoa do maggiore por ele ter trocado a pintura pela medicina. Mas aquele quadro indicava que o rapaz tinha feito a escolha certa. “Muito bonito”, mentiu. “E os outros?”
“Oh, os outros são meus. Mas eu os pintei há muitos anos, quando era estudante.” Primeiro as covinhas, agora aqueles quadros tão delicados e doces. Talvez a base americana de Vicenza ainda lhe reservasse muitas surpresas.
Ouviu-se uma leve batida na porta, que se abriu antes que Ambrogiani tivesse tempo de responder. Um cabo fardado entrou no escritório, trazendo uma bandeja com dois cafés, dois copos e uma garrafa de água mineral. Colocou-a na mesa e se retirou.
“Ainda está fazendo calor como no verão”, comentou o maggiore. “Convém tomar muita água.”
Inclinando-se, entregou-lhe uma xícara e pegou a sua. Quando terminaram o café, cada qual com um copo de água na mão, Brunetti considerou que já podiam começar a conversar. “O que se sabe desse americano, o sargento Foster?”
Ambrogiani tamborilou o dedo rechonchudo numa fina pasta de arquivo que estava na mesa, a um lado, aparentemente a do norte-americano morto. “Nada. Nós não sabemos nada. É claro que os americanos não vão nos dar o prontuário dele. Quer dizer”, apressou-se a emendar, “se é que têm o prontuário dele.”
“Por que não?”
“É uma longa história”, disse o maggiore com uma leve hesitação, sinal de que queria ser estimulado.
Sempre disposto a agradar, Brunetti insistiu: “Por quê?”.
Ambrogiani se remexeu na cadeira, o corpo evidentemente grande demais para ela. Tornou a tamborilar na pasta, tomou um gole de água, recolocou o copo na mesa, tamborilou uma vez mais. “O senhor sabe, os americanos estão aqui desde o fim da guerra. Aqui nesta base, que cresceu muito e continua crescendo. São milhares de militares com as famílias.” Brunetti se perguntou qual era o motivo de um preâmbulo tão longo. “Como estão aqui há tanto tempo, e talvez por serem tantos, eles tendem a ser, bem, tendem a achar que a base é deles, embora o tratado deixe bem claro que isto aqui continua sendo território italiano. Pelo menos por enquanto. Faz parte da Itália.” Voltou a se mexer na cadeira.
“Algum problema? Com eles?”
O maggiore demorou a responder: “Não. Não é isso. O senhor sabe como eles são, os americanos”.
Brunetti estava cansado de ouvir essas palavras, referindo-se aos alemães, aos eslavos, aos ingleses. Todos partiam do princípio de que o outro grupo “era” de determinada maneira, embora ninguém estivesse de acordo quanto a que maneira era essa. Ele ergueu a cabeça, num gesto inquisitivo, estimulando Ambrogiani a prosseguir.
“Não é arrogância, não é isso. Não creio que eles tenham autoconfiança suficiente para ser arrogantes como os alemães. É mais um sentimento de posse, como se tudo isto, toda a Itália, de certo modo lhes pertencesse. Talvez, por estarem convencidos de que garantem a segurança do país, pensem que é tudo deles.”
“E eles garantem mesmo a segurança?”
O maggiore achou graça. “Pode ser que a tenham garantido logo depois da guerra. E talvez nos anos 60. Mas agora, do jeito que o mundo anda, duvido que alguns milhares de pára-quedistas no Norte da Itália façam uma grande diferença.”
“Esse sentimento é generalizado? Quer dizer, entre os militares, os carabinieri?”
“É, acho que é. Mas o senhor precisa compreender o modo como os americanos vêem as coisas.”
Para Brunetti, ouvir aquelas palavras foi uma revelação. Num país em que a maioria das instituições públicas já não era digna de respeito, somente os carabinieri tinham conseguido se salvar e, de modo geral, continuavam sendo considerados isentos de corrupção. Uma vez admitida tal coisa, a opinião pública precisara compensá-la, transformando esses mesmos carabinieri em alvo do escárnio popular, nos clássicos bufões que nada entendiam e cuja burrice lendária era o grande motivo de riso da nação. No entanto, ali estava um deles, tentando explicar o ponto de vista de outra pessoa. E, aparentemente, compreendendo-o. Era notável.
“Quem são os militares aqui na Itália?”, disparou Ambrogiani, uma pergunta evidentemente retórica. “Nós, os carabinieri, somos voluntários. Mas o Exército... todos eles foram convocados, com exceção dos gatos-pingados que escolheram a carreira militar. Garotos de dezoito, dezenove anos que querem ser soldados tanto quanto querem...” Interrompeu-se em busca de uma comparação adequada. “Tanto quanto querem lavar pratos ou arrumar a própria cama, que é o que eles fazem, provavelmente pela primeira vez na vida, quando estão prestando o serviço militar. Um ano e meio perdido na vida, um ano e meio no lixo, quando podiam estar trabalhando ou estudando. São submetidos a um treinamento brutal, idiota, e passam um ano brutal, idiota, dentro de uma farda ridícula, e o soldo que recebem não dá nem para os cigarros.” Brunetti estava cansado de saber disso tudo. Tinha passado os seus dezoito meses no exército.
O maggiore não tardou a lhe notar a falta de interesse. “Estou dizendo isso porque explica como os americanos nos encaram. Os garotos e as garotas deles são todos voluntários, acho. Estão fazendo carreira. Gostam dela. São bem pagos, ganham o suficiente para viver. E muitos se orgulham do que fazem. E o que eles vêem aqui? Rapazes que preferiam ir jogar futebol ou pegar um cinema, mas que são obrigados a fazer uma coisa que detestam, e por isso mesmo a fazem mal. De modo que imaginam que nós somos um bando de vagabundos.”
“E daí?”
“Daí”, repetiu Ambrogiani, “eles não nos entendem e, por isso, têm uma visão negativa de nós por motivos que não podemos compreender.”
“O senhor pode compreendê-los”, disse Brunetti. “O senhor é militar.”
O maggiore deu de ombros como que sugerindo que, em primeiro lugar e acima de tudo, ele era italiano.
“Quer dizer que eles não lhe entregariam o prontuário mesmo que o tivessem?”
“Não. Eles tendem a não ajudar muito nessas coisas.”
“O que quer dizer ‘nessas coisas’, maggiore?”
“Os crimes em que eles se envolvem fora da base.”
Sem dúvida, isso se aplicava perfeitamente ao rapaz que aparecera morto em Veneza, mas Brunetti achou a formulação esquisita. “Esses crimes são freqüentes?”
“Não, freqüentes não são. Há alguns anos uns americanos se envolveram num homicídio. Um africano. Espancaram-no até a morte com pedaços de pau. Estavam bêbados. O africano tinha dançado com uma branca.”
“Protegendo suas mulheres?”, perguntou Brunetti, sem dissimular o sarcasmo.
“Não”, respondeu Ambrogiani. “Eles também eram negros. Os caras que o mataram eram negros.”
“Que aconteceu com eles?”
“Dois pegaram doze anos de cadeia. Um deles foi declarado inocente e posto em liberdade.”
“Quem os julgou, eles ou nós?”, quis saber Brunetti.
“Para sorte deles, fomos nós.”
“Por que para sorte deles?”
“Porque foram julgados por um tribunal civil. As sentenças são muito mais leves. E a acusação foi de homicídio culposo. O cara os provocou, bateu no carro deles e os insultou. Por isso, o juiz decidiu que foi legítima defesa.”
“Quantos americanos eram?”
“Três militares e um civil.”
“Legítima defesa!”, exclamou Brunetti.
“Foi o que decidiu a Justiça, levando isso em consideração. Os americanos os teriam condenado a vinte ou trinta anos. Com a Justiça Militar não se brinca. Mesmo porque eles eram pretos.”
“Isso ainda influencia?”
Um dar de ombros. Uma sobrancelha arqueada. Mais um dar de ombros. “Os americanos diriam que não.” Ambrogiani tomou outro gole de água. “Quanto tempo o senhor pretende ficar aqui?”
“Hoje. Amanhã. E há outros casos assim?”
“Às vezes. Em geral, eles cuidam dos crimes na base, disso eles mesmos se encarregam, a não ser que seja um caso muito grave ou que viole a legislação italiana. Aí, sim, a gente também participa.”
“Como o daquele diretor?”, perguntou Brunetti, recordando um caso que, anos antes, ocupara as manchetes de todo o país, algo com o diretor de uma escola elementar acusado de abusar dos alunos, mas os detalhes eram vagos em sua memória.
“Sim, como esse. Mas, em geral, eles mesmos cuidam de tudo.”
“Desta vez, não”, disse Brunetti com segurança.
“Não, desta vez, não. Como o rapaz foi assassinado em Veneza, ele é seu, todo seu. Mas os americanos vão se meter.”
“Por quê?”
“Public relations”, disse o maggiore num inglês trôpego. “As coisas estão mudando. É bem provável que eles desconfiem que já não vão ficar muito tempo aqui, nem aqui nem na Europa em geral, de modo que não hão de querer nada capaz de encurtar ainda mais sua permanência. Nada de publicidade negativa.”
“Parece que foi um assalto”, disse Brunetti.
Ambrogiani o encarou longamente. “Quando foi a última vez que houve um latrocínio em Veneza?”
Se ele era capaz de fazer semelhante pergunta, sabia a resposta.
“Crime passional?”, sugeriu Brunetti.
Ambrogiani tornou a sorrir. “Ninguém comete crime passional a cem quilômetros de casa. O cara mata no quarto ou no bar, mas não viaja até Veneza para isso. Se tivesse acontecido aqui, podia ser por sexo ou dinheiro. Mas não foi aqui, portanto o motivo deve ser outro.”
“Homicídio no lugar errado?”
“Exatamente, no lugar errado”, repetiu Ambrogiani, obviamente satisfeito com a formulação. “E, por isso mesmo, mais interessante.”
7
Usando a ponta do dedo, o maggiore Ambrogiani empurrou a pasta na direção de Brunetti e se serviu de mais um copo de água mineral. “O que eles nos deram foi isso. Se o senhor quiser, há uma tradução.”
Brunetti sacudiu a cabeça e abriu a pasta. Na capa, estava impresso em letras vermelhas: “Foster, Michael, n. 28/09/64, Seguro Social 651 34 1054”. Ele abriu o documento e viu, no verso da capa, a cópia xerox de uma fotografia. O homem estava irreconhecível. Aqueles fortes contornos em preto-e-branco pouco tinham a ver com a face amarelada da morte que ele contemplara à beira do canal no dia anterior. Havia ainda duas laudas datilografadas, informando que o sargento Foster trabalhava no Departamento de Saúde Pública, que fora multado uma vez por desrespeitar um sinal de parada obrigatória na base, que tinha sido promovido à patente de sargento um ano antes e que sua família morava em Biddeford Pool, Maine.
A segunda folha continha o resumo da entrevista de um civil italiano que trabalhava no Departamento de Saúde Pública, afirmando que Foster se dava bem com os colegas e era muito trabalhador, educado e cortês com os civis italianos empregados pelo departamento.
“Pouca coisa, hein?”, disse Brunetti, recolocando a pasta na mesa. “Um soldado perfeito. Trabalhador. Obediente. Educado.”
“Mesmo assim, levou uma facada.”
Lembrando-se da dra. Peters, Brunetti perguntou: “Ele não tinha namorada?”.
“Que eu saiba, não. Mas isso não quer dizer que não tinha. Ele era jovem, falava italiano razoavelmente. Portanto é possível.” Fez uma pequena pausa. “A não ser que preferisse as mulheres que se vendem em frente à estação ferroviária.”
“É lá que elas trabalham?”
O maggiore fez que sim. “Em Veneza não?”
Brunetti sacudiu a cabeça. “Não, desde que o governo fechou os bordéis. Há algumas, mas trabalham nos hotéis e não criam problemas.”
“Aqui elas se viram nas imediações da estação, mas eu acho que o negócio anda mal”, disse Ambrogiani. “Hoje em dia não faltam moças direitas dispostas a entregar tudo. Tudo mesmo”, acrescentou. “Por amor.”
A filha de Brunetti acabava de completar treze anos, de modo que ele não teve a menor vontade de indagar que “tudo” era aquele que as moças estavam dispostas a entregar por amor. “Eu posso falar com os americanos?”, perguntou.
“Pode, acho que pode”, respondeu o maggiore, já pegando o telefone. “Vou dizer que o senhor é o chefe da polícia de Veneza. Eles gostam muito desse cargo e vão recebê-lo.” Discou um número que, evidentemente, sabia de cor e, enquanto esperava que atendessem, puxou a pasta para junto de si. Alinhou com excessivo capricho as poucas folhas de papel que ela continha e a dispôs simetricamente no tampo da mesa.
Falou num inglês correto, apesar do forte sotaque. “Boa tarde, Tiffany. Aqui é o maggiore Ambrogiani. O major está? Quê? Sim, eu aguardo.” Afastou o fone do ouvido e o tapou. “Ele está numa reunião. Os americanos não fazem outra coisa na vida, uma reunião atrás da outra.”
“Pode ser que...”, começou a dizer Brunetti, mas Ambrogiani o calou com um gesto.
“Sim, obrigado. Bom dia, major Butterworth.” O nome estava escrito na pasta, mas a pronúncia do maggiore tornou-o irreconhecível.
“Sim, major, eu estou com o chefe da polícia de Veneza aqui no escritório. É, nós o trouxemos de helicóptero, vai passar o dia aqui.” Seguiu-se uma longa pausa. “Não, ele está disponível só hoje.” Consultou o relógio. “Daqui a vinte minutos? Sim, ainda vai estar aqui. Não, eu lamento, mas não posso, major. Tenho uma reunião. Sim, obrigado.” Recolocou o fone no gancho e pôs o lápis em diagonal na capa da pasta. “Ele vai recebê-lo dentro de vinte minutos.”
“E a sua reunião?”, perguntou Brunetti.
Ambrogiani fez um gesto de desdém. “É perda de tempo. Se eles souberem de alguma coisa, não vão contar. Se não souberem, não terão o que contar. Portanto eu não vou perder tempo indo até lá.” Mudou de assunto. “Como é o seu inglês?”
“Bom.”
“Ainda bem, isso facilita muito as coisas.”
“Quem é esse major?”
O maggiore repetiu o nome, tropeçando em todas as consoantes aspiradas. “É o oficial de ligação deles. Ou, como dizem os americanos, é quem nos ‘liaises’ a eles”, explicou, usando a palavra inglesa. Os dois riram da facilidade com que aquela língua estrangeira transformava um substantivo num verbo, coisa que o italiano jamais permitiria.
“No que consiste essa ‘ligação’?”
“Oh, quando nós temos algum problema, ele vem falar conosco, ou então o inverso, quando são eles que estão com problemas.”
“Que problemas?”
“Quando alguém tenta entrar na base sem documento de identidade. Ou quando nós transgredimos suas leis de trânsito. Ou quando querem saber por que um carabiniere resolveu comprar dez quilos de carne no supermercado deles. Esse tipo de coisa.”
“Supermercado?”, surpreendeu-se Brunetti.
“É, supermercado. E bowling alley”, disse o maggiore em inglês, “e cinema e até um Burger King.” O nome da lanchonete lhe saiu sem o menor vestígio de sotaque.
Fascinado, Brunetti repetiu as palavras “Burger King” exatamente no tom que um garoto diria “pônei” se lhe prometessem um.
Ambrogiani achou graça ao ouvi-lo. “Incrível, não? Há um pequeno mundo aqui dentro, um mundo completamente diferente da Itália.” Fez um gesto na direção da janela. “Lá fora estão os Estados Unidos, comissário. É nisso que nós todos vamos acabar nos transformando um dia.” Fez uma breve pausa. “Nos Estados Unidos.”
Não era outra coisa que aguardava Brunetti quinze minutos depois, quando ele abriu a porta do quartel-general do comando da otan e subiu os três degraus do saguão. As paredes ostentavam pôsteres de cidades cujos nomes não eram mencionados, mas que, a julgar pela altura e pela homogeneidade dos arranha-céus, só podiam ser norte-americanas. A nação também era vigorosamente proclamada nos muitos sinais de “proibido fumar” e nos comunicados que cobriam os quadros de aviso. O mármore do piso era o único elemento italiano. Seguindo a orientação recebida, ele subiu a escada à sua frente, virou à direita e se dirigiu à segunda porta à esquerda. Entrou numa sala segmentada por divisórias da altura de uma pessoa; tal como no andar inferior, as paredes estavam cobertas de quadros de aviso e comunicados impressos. Junto a uma delas, havia duas poltronas forradas com uma espécie de plástico cinzento muito grosso. Uma moça que só podia ser americana estava sentada a uma escrivaninha bem próxima da porta, à direita. Loira, de olhos azuis, tinha o cabelo bem curto na frente, com uma pequena franja, mas que, atrás, lhe chegava quase até a cintura. Uma grande quantidade de sardas lhe pontilhava o nariz, e seus dentes tinham a perfeição comum à maioria dos norte-americanos e aos italianos muito ricos. Ela lhe endereçou um sorriso radiante; sua boca se dilatou, mas os olhos permaneceram curiosamente inexpressivos e vazios.
“Bom dia”, disse ele, retribuindo o sorriso. “Meu nome é Brunetti. Acho que o major está à minha espera.”
A moça se levantou, exibindo um corpo tão perfeito quanto os dentes, e, afastando-se da mesa, entrou por uma abertura na divisória, embora pudesse ter usado o telefone ou simplesmente gritado. Brunetti ouviu-a dizer alguma coisa do outro lado e, a seguir, a resposta dada por uma voz mais grave. Alguns segundos depois, ela apareceu na abertura e lhe fez um sinal. “Por aqui, senhor, faça o favor.”
Sentado à escrivaninha, estava um rapaz louro que aparentava pouco mais de vinte anos. Brunetti olhou para ele e desviou rapidamente a vista, pois o homem parecia brilhar, reluzir. Voltando a encará-lo, viu que não era fulgor, mas apenas juventude, saúde e alguém que cuidava da farda com muito capricho.
“Chefe Brunetti?”, perguntou, levantando-se para recebê-lo. Parecia ter saído do chuveiro ou do banho naquele instante: de tão esticada e brilhante, sua pele dava a impressão de que ele acabara de guardar o aparelho de barbear para lhe apertar a mão. Enquanto se cumprimentavam, Brunetti reparou no azul claro, translúcido, de seus olhos, exatamente da cor que tinha a laguna vinte anos antes.
“Muito obrigado por ter vindo de Veneza conversar conosco, chefe Brunetti. Ou é questore?”
“Vice-questore”, respondeu ele, promovendo-se na carreira a fim de ter acesso mais fácil à informação. Notou que havia uma caixa de entrada e uma de saída na mesa do major Butterworth; a de entrada estava vazia; a de saída, cheia.
“Sente-se, por favor”, disse o americano, e aguardou que ele se acomodasse antes de se sentar. Tirou da gaveta uma pasta um pouco mais grossa que a de Ambrogiani. “É a respeito do sargento Foster, não?”
“É.”
“O que o senhor quer saber?”
“Quero saber quem o matou”, respondeu Brunetti, impassível.
Butterworth hesitou um momento, sem saber como interpretar a observação, mas logo decidiu tratá-la como um gracejo. “É”, disse, com um riso quase imperceptível entre os lábios, “isso nós todos queremos saber. Mas duvido que as informações de que dispomos nos ajudem a descobrir quem foi.”
“Que informações são essas?”
O major lhe entregou a pasta. Embora soubesse que se tratava do mesmíssimo material que acabara de examinar, ele a abriu e releu as páginas. A pasta continha uma fotografia diferente da que ele vira na outra. Pela primeira vez, embora lhe tivesse visto o rosto e o corpo nu, Brunetti teve uma idéia clara da aparência do rapaz. Mais bonito nesse retrato, Foster ostentava um bigodinho curto, que devia ter raspado algum tempo antes de ser assassinado.
“De quando é essa fotografia?”
“Provavelmente da época em que ele se alistou.”
“Quando foi isso?”
“Há sete anos.”
“Fazia tempo que ele estava na Itália?”
“Quatro anos. Aliás, acabava de se realistar para continuar aqui.”
“Como?”, perguntou Brunetti.
“Ele se alistou novamente. Por mais três anos.”
“E ia ficar no país?”
“Ia.”
Lembrando-se de algo que havia lido na pasta, Brunetti perguntou: “Como ele aprendeu a falar italiano?”.
“Como assim?”
“Se ele trabalhava aqui em tempo integral, não tinha muito tempo para aprender uma língua estrangeira”, explicou Brunetti.
“Tanti di noi parliamo italiano”, respondeu Butterworth num italiano compreensível apesar do sotaque arrastado.
“Sim, claro”, disse Brunetti e, por conveniência, enalteceu o italiano do major com um largo sorriso. “Ele morava aqui? Vocês têm alojamentos, não?”
“Temos, sim. Mas o sargento Foster morava num apartamento em Vicenza.”
Brunetti sabia perfeitamente que o apartamento já fora revistado, de modo que não perguntou se isso havia acontecido. “Vocês encontraram alguma coisa?”
“Não.”
“Eu posso dar uma olhada lá?”
“Não sei se é necessário”, apressou-se a dizer Butterworth.
“Também não sei se é necessário. Mas gostaria de ver o lugar onde ele morava.”
“Não é o procedimento regular.”
“Eu não sabia que aqui havia um procedimento regular”, disse Brunetti. Sabia que tanto os carabinieri quanto a polícia de Vicenza podiam, facilmente, autorizá-lo a inspecionar o apartamento, mas, pelo menos nessa fase da investigação, queria estar de bem com todas as autoridades envolvidas.
“Creio que se pode providenciar”, cedeu Butterworth. “Quando o senhor quer ir?”
“Não há pressa. Hoje à tarde. Amanhã.”
“Quer dizer que o senhor pretende ficar aqui até amanhã, vice-questore?”
“Depende, major, só se não der para concluir tudo hoje.”
“Que mais o senhor deseja?”
“Gostaria de conversar com as pessoas que o conheciam, que trabalhavam com ele.” Brunetti notara, nos papéis da pasta, que o morto estava fazendo um curso universitário na base. Tal como os romanos, esses novos construtores de Império levavam suas escolas consigo. “Talvez com os colegas de faculdade.”
“Creio que isso também se pode providenciar, mas confesso que não vejo motivo para isso. Nós vamos cuidar dessa parte da investigação.” Calou-se, esperando que Brunetti o contestasse. Como ele não dissesse nada, prosseguiu. “Quando o senhor prefere ir ao apartamento?”
Brunetti consultou o relógio. Era quase meio-dia. “Talvez à tarde. Se o senhor me der o endereço, peço para o meu motorista passar por lá quando estiver me levando à estação.”
“Quer que eu vá junto, vice-questore?”
“É muita gentileza, major, mas não há necessidade. Basta o senhor me dar o endereço.”
Butterworth pegou um bloco de papel e, sem consultar a pasta, anotou o endereço e o entregou a Brunetti. “Não fica longe. O seu motorista não vai ter dificuldade para encontrá-lo.”
“Obrigado, major”, disse Brunetti, levantando-se. “O senhor me permite ficar algum tempo aqui na base?”
“Posto”, retificou Butterworth imediatamente. “Isto aqui é um posto. Quem tem bases é a Força Aérea. O Exército tem postos.”
“Ah, compreendo. Em italiano, nós dizemos base nos dois casos. Algum inconveniente se eu ficar aqui?”
Após uma breve hesitação, o major disse: “Não, não vejo inconveniente”.
“E no apartamento, major? Como eu vou entrar?”
Butterworth se levantou e contornou a escrivaninha. “Há dois homens lá. Eu telefono avisando que o senhor está a caminho.”
“Obrigado, major”, disse Brunetti, oferecendo-lhe a mão.
“De nada. É um prazer ajudá-lo.” O aperto de mão de Butterworth era forte, poderoso. Mas, enquanto se despedia, Brunetti notou que ele não lhe pedira para ser informado do que eventualmente descobrisse sobre o morto.
A loira já não estava à escrivaninha na ante-sala. A tela do computador brilhava a um lado da mesa, tão vazia quanto a expressão da dona.
“E agora, senhor?”, perguntou o motorista quando Brunetti entrou no carro.
Ele lhe entregou o papel com o endereço de Foster. “Sabe onde é?”
“Borgo Casale? Sim, senhor. Atrás do estádio de futebol.”
“No caminho pelo qual nós viemos?”
“Isso mesmo. Nós passamos em frente. Vamos para lá agora?”
“Não, ainda não. Primeiro eu quero comer alguma coisa.”
“É a primeira vez que o senhor vem a Vicenza?”
“Sim, a primeira vez. Faz tempo que você mora aqui?”
“Seis anos. Mas foi uma sorte eu ter sido mandado para cá. Minha família é de Schio”, explicou ele, mencionando uma cidadezinha a cerca de meia hora de lá.
“Muito esquisito, não?”, comentou Brunetti, apontando para os prédios ao redor.
O motorista concordou com um gesto.
“Que mais há aqui, fora os escritórios? O maggiore Ambrogiani falou num supermercado.”
“E um cinema, uma piscina, uma biblioteca, escolas. É uma verdadeira cidade. Eles têm até um hospital.”
“Quantos americanos moram aqui?”, perguntou Brunetti.
“Sei lá. Uns cinco mil, mas acho que isso inclui as mulheres e os filhos.”
“Você gosta deles?”
O motorista deu de ombros. “Por que não? Os gringos são simpáticos.” Não chegava a ser uma declaração de amor. Ele mudou de assunto. “E o almoço, senhor? Prefere comer aqui ou fora da base?”
“O que você sugere?”
“O melhor lugar é a mensa italiana. Há comida por lá.” Ouvindo isso, Brunetti se perguntou que diabo os americanos serviam em seu próprio refeitório. Rebites? “Mas hoje está fechada”, acrescentou o motorista. “Greve.” Não deixava de ser uma prova de que estavam realmente na Itália, ainda que numa instalação militar norte-americana.
“Algum outro lugar?”
Sem responder, o motorista ligou o motor e arrancou. De súbito, fez o balão e retornou à rua principal, que cortava o posto. Deus várias voltas nos edifícios e atrás de automóveis, manobras que pareciam não ter o menor sentido, e logo estacionou em frente a outro prédio baixo.
Olhando pela janela traseira, Brunetti viu que tinham parado diagonalmente em frente ao ângulo reto formado pelas fachadas de dois estabelecimentos comerciais. Acima de uma porta de vidro, uma placa dizia “Praça de Alimentação”. Não era isso que os leões faziam com a presa? Na outra placa estava escrito “Sorvetes Baskin Robbins”. Sem a menor sombra de otimismo, ele perguntou: “Café?”.
O motorista apontou com o queixo para a segunda porta, evidentemente ansioso por despachá-lo. Quando Brunetti saiu do carro, inclinou-se no banco e disse: “Eu volto daqui a dez minutos”. Fechou a porta e partiu rapidamente, deixando-o na calçada com uma estranha sensação de abandono e deslocamento. Então Brunetti avistou uma placa à direita da segunda porta — capucino bar — que só podia ter sido escrita por um americano.
Pediu um café à mulher do balcão e, vendo que não tinha a menor possibilidade de almoçar, conformou-se com um brioche. Parecia um pãozinho, tinha a fofa consistência do pãozinho, mas o gosto era de papelão. Brunetti colocou uma nota de três mil liras no balcão. A mulher olhou para o dinheiro, olhou para ele, pegou a nota e a substituiu por moedas exatamente iguais às encontradas no bolso do morto. Ele chegou a pensar, momentaneamente, que a desconhecida estava tentando transmitir uma mensagem cifrada, mas bastou-lhe examinar o rosto para saber que estava apenas dando o troco.
Ao sair de lá, Brunetti se alegrou por ter oportunidade de formar uma idéia do posto enquanto esperava o motorista. Instalando-se num banco em frente aos estabelecimentos comerciais, pôs-se a observar os transeuntes. Alguns olhavam para ele, que, ali sentado, de terno e gravata, obviamente era um elemento estranho no lugar. Muitos passavam fardados, tanto homens quanto mulheres. A maioria dos outros estava de shorts e tênis, sendo que uma boa parte das mulheres usava blusa frente única, se bem que poucas tivessem o direito de fazê-lo. Os homens geralmente eram fortes e atléticos; não faltavam mulheres assustadoramente gordas.
Os veículos trafegavam devagar, os motoristas em busca de uma vaga de estacionamento: carros grandes, carros japoneses, carros com o mesmo afi na chapa. Quase todos passavam de janelas fechadas; lá dentro, no conforto do ar-condicionado, ouvia-se a estridência do rock nos mais diversos volumes.
As pessoas caminhavam sossegadamente, cumprimentando-se com sorrisos e trocando palavras cordiais, muito à vontade naquele vilarejo alienígena incrustado na Itália.
Dez minutos depois, o motorista estacionou diante dele. Brunetti se instalou no banco traseiro. “O senhor que ir para o tal endereço?”
“Quero”, respondeu ele, já um tanto farto dos Estados Unidos.
Viajando bem mais depressa que os outros veículos na base, eles foram para o portão e saíram. Viraram à direita e, passando uma vez mais pelo viaduto sobre a estrada de ferro, tomaram o rumo do centro. Logo dobraram à esquerda, depois à direita, e pararam em frente a um prédio de cinco andares um pouco recuado da calçada. Diante do portão, havia um jipe verde-oliva com dois soldados norte-americanos no banco da frente. Brunetti se aproximou. Um deles saiu do jipe.
“Eu sou o comissário Brunetti, de Veneza”, apresentou-se, reassumindo seu verdadeiro posto. “O major Butterworth me pediu que viesse dar uma olhada no apartamento.” Não chegava a ser a mais pura verdade, mas tampouco estava longe dela.
Esboçando um gesto que podia ser uma saudação, o soldado lhe entregou um molho de chaves. “A vermelha é a da porta da frente, senhor. Apartamento 3B, terceiro andar. O elevador fica à direita.”
Brunetti entrou no prédio e, quando embarcou no elevador minúsculo, sentiu um claustrofóbico desconforto. Ao sair, deu com a porta do 3B à sua frente e não teve dificuldade para abri-la.
No apartamento, a primeira coisa que notou foi o habitual piso de mármore. Todas as portas davam para um corredor central, no fundo do qual se abria outra porta. O cômodo à direita era o banheiro; o da esquerda, uma cozinha pequena. Ambos estavam limpos e arrumados. Ele reparou que, na cozinha, havia uma geladeira enorme e um fogão de quatro bocas também muito grande, ao lado do qual ficava uma máquina de lavar roupa igualmente volumosa; os dois aparelhos elétricos estavam ligados a um transformador que reduzia a tensão italiana de 220 volts para a americana de 110. Será que eles atravessavam o Atlântico com todas aquelas máquinas nas costas? O pouco espaço que restava na cozinha mal dava para uma mesinha quadrada e duas cadeiras. Na parede, via-se um aquecedor a gás que devia fornecer tanto a água quente quanto a calefação do apartamento.
As portas seguintes davam para dois quartos. Um deles com cama de casal e guarda-roupa grande. No outro, transformado em escritório, havia uma escrivaninha com computador e impressora. Nas estantes, livros e um aparelho de som, sob o qual vários cds se alinhavam na mais perfeita ordem. Brunetti examinou os livros: a maioria deles parecia constituída de manuais; o resto era sobre viagem e — seria possível? — religião. Ele pegou alguns. A vida cristã numa época de dúvida, Transcendência espiritual e Jesus: a vida ideal. O autor deste era o reverendo Michael Foster. O pai do rapaz?
Os discos deviam ser de rock, pensou Brunetti. Chegou a reconhecer alguns títulos por ter ouvido Raffaele e Chiara mencioná-los; mas dificilmente reconheceria a música.
Ligando o cd, apertou o botão eject. Como um doente a mostrar a língua para o médico, o aparelho abriu automaticamente a gaveta de discos. Vazia. Ele a fechou e desligou-o. Passou para o amplificador e o toca-fitas. As luzes do painel se acenderam, mostrando que ambos estavam funcionando. Brunetti os desligou. Acionou o computador e observou os caracteres que apareceram na tela. Desligou-o.
As roupas, no armário, não foram mais reveladoras. Três fardas completas, os paletós ainda na embalagem plástica da lavanderia, cada qual cuidadosamente alinhado com uma calça verde-oliva. Também havia alguns jeans muito bem dobrados nos cabides, três ou quatro camisas e um terno azul-marinho de tecido sintético. Quase inconscientemente, ele revistou os bolsos do paletó do terno e de todas as calças, mas nada encontrou; nenhum dinheiro trocado, nenhum papel, nenhum pente. Ou o sargento Foster era um homem muito organizado, ou os americanos já tinham passado por lá.
No banheiro, Brunetti ergueu a tampa da privada, verificou o vaso e tornou a tampá-lo. Abriu a porta espelhada do armarinho, examinou um ou dois frascos.
Entrando na cozinha, vistoriou a parte superior do enorme refrigerador duplex. Gelo. Nada mais. Na inferior, algumas maçãs, uma garrafa de vinho branco já aberta e dois ou três queijos velhos embrulhados num plástico. No fogão, apenas três panelas vazias; a máquina de lavar também estava vazia. Ele se encostou na bancada e olhou ao redor. Em seguida, tirando uma faca da primeira gaveta, subiu numa das cadeiras e desatarraxou os parafusos que prendiam a tampa do aquecedor. Guardou-os um a um no bolso do paletó. Ao soltar o último, pôs a faca no bolso e empurrou a tampa de um lado para outro até que se soltasse em suas mãos. Depositou-a na cadeira, firmando-a com a perna.
Na parede interna do aparelho, havia dois sacos plásticos presos com fita adesiva. Ambos continham um pó branco muito fino, cerca de um quilo, calculou Brunetti. Protegendo a mão com o lenço, puxou o primeiro saco, depois o outro. Só para confirmar o que já sabia, abriu um deles, umedeceu o indicador e colheu um pouco do pó. Ao levá-lo à língua, sentiu o gosto inconfundível, ligeiramente metálico, da cocaína.
Depois de depositar os dois sacos na bancada, recolocou a tampa no lugar, procurando ajustá-la exatamente aos buracos do corpo do aquecedor. Atarraxou lentamente os quatro parafusos, tomando o cuidado de deixar os sulcos dos de cima em posição perfeitamente horizontal e os de baixo numa vertical igualmente precisa.
Consultou o relógio. Fazia quinze minutos que estava no apartamento. Os americanos tinham tido um dia e meio para vistoriá-lo; a polícia italiana idem. No entanto, ele havia encontrado os dois sacos em menos de quinze minutos.
Abriu a porta de um dos armários e viu apenas três ou quatro pratos. Achou o que procurava embaixo da pia: dois sacos de lixo. Sempre usando o lenço para proteger a mão, colocou uma embalagem de cocaína em cada saco e os guardou nos bolsos do paletó. Limpou a faca na manga e tornou a guardá-la na gaveta; em seguida, usou o lenço para remover as impressões digitais da superfície do aquecedor.
Saiu do apartamento e trancou a porta. Na rua, aproximou-se do jipe e sorriu para os militares americanos. “Obrigado”, disse, devolvendo o molho de chaves.
“E então?”, perguntou um deles.
“Nada. Eu só queria ver como ele vivia.” O rapaz não se mostrou surpreso com a resposta.
Brunetti foi para o carro e mandou o motorista levá-lo à estação ferroviária. Pegou o Intercity das três e quinze, que vinha de Milão, e se preparou para fazer a viagem de volta do mesmo modo como fizera a de ida, olhando pela janela e pensando no motivo de haverem assassinado um jovem soldado americano. Agora, no entanto, tinha algo novo a acrescentar à indagação: por que plantaram drogas no apartamento depois de sua morte? Quem teria feito isso?
8
Quando o trem partiu, Brunetti foi para a frente, à procura de um compartimento vazio num vagão da primeira classe. Os dois embrulhos de plástico lhe pesavam nos bolsos internos do paletó, obrigando-o a andar com o corpo semicurvado para dissimular o volume. Por fim, achou uma cabine vazia no primeiro vagão e se sentou à janela; logo depois, tornou a se levantar para fechar a porta corrediça. Colocando a pasta de documentos no banco ao lado, imaginou se convinha transferir os pacotes ou não. De súbito, um homem uniformizado abriu a porta do compartimento e entrou. Por um louco instante ele se imaginou na cadeia, sua carreira em ruínas, mas o homem apenas lhe pediu a passagem, e ele voltou a se sentir a salvo.
Quando o condutor saiu, foi à custa de muito esforço que Brunetti não enfiou a mão nos bolsos do paletó nem apalpou os embrulhos com os cotovelos para verificar se estavam no lugar. Embora raramente lidasse com drogas no trabalho, sabia que estava transportando alguns milhões de liras em cada bolso: um apartamento novo num deles e uma aposentadoria antecipada no outro. A idéia não o seduziu. Ele os daria com prazer se, em troca, ficasse sabendo quem os havia colocado no lugar em que os encontrara. Embora não soubesse quem, sabia perfeitamente por quê: acaso havia melhor motivo para um homicídio do que as drogas e o tráfico? E havia melhor prova de envolvimento com entorpecentes do que um quilo de cocaína escondido no próprio apartamento? E quem era o mais indicado para encontrá-lo do que o policial de Veneza, que, só pelo fator geográfico, não tinha nem podia ter envolvimento com o crime ou com a vítima? Em que o jovem soldado havia se metido para que não hesitassem em jogar fora um quilo de cocaína só para despistar?
Em Pádua, uma senhora idosa entrou no compartimento. Sem dizer uma palavra nem olhar para Brunetti, pôs-se a ler uma revista até chegar a Mestre, onde ficou. Quando o trem chegou a Veneza, ele pegou a pasta e desembarcou, procurando ver se alguém que embarcara em Vicenza descia com ele. Ao sair da estação, virou à direita e se dirigiu ao barco número um; chegando ao embarcadouro, parou, voltou-se e olhou para o relógio que ficava do lado oposto. Mudando repentinamente de direção, foi para a outra extremidade da piazza da estação, onde ficava o embarcadouro do número dois. Ninguém o seguiu.
Minutos depois, o veículo chegou pela direita, e ele foi o único a embarcar. Observou que, àquela hora, eram poucos os passageiros a bordo. Desceu a escadinha e, atravessando a cabine traseira, foi para o deque da popa, que estava deserto. A embarcação zarpou e, depois de passar sob a ponte dos Scalzi, entrou no Canale Grande em direção a Rialto e ao ponto final.
Ao ver, pela porta de vidro, que os quatro passageiros na cabine interna estavam entretidos com seus jornais, Brunetti abriu a pasta e tirou um dos embrulhos do bolso. Tomando o cuidado de segurá-lo pela extremidade, abriu-o. Pondo-se de lado, uma ótima posição para examinar a fachada do Museu de História Natural, passou a mão por baixo do balaústre e espalhou o pó branco nas águas do canal. Guardou o saco vazio na pasta e repetiu a operação com o outro. Na idade de ouro da Sereníssima República, o doge costumava realizar uma sofisticada cerimônia anual que consistia em jogar uma aliança de ouro no Canale Grande, celebrando o matrimônio da cidade com as águas que lhe davam vida, riqueza e poder. Mas nunca, pensou ele, ninguém oferecera tamanha fortuna àquelas águas.
De Rialto, Brunetti voltou a pé à questura e foi diretamente ao laboratório. Encontrou Bocchese amolando uma tesoura numa das máquinas que, ao que tudo indicava, só ele era capaz de operar. Vendo-o entrar, desligou-a e pôs a tesoura na bancada à sua frente.
Brunetti colocou a pasta ao lado da tesoura e tirou os dois sacos plásticos, tomando o cuidado de segurá-los pelas pontas. Colocou-os na bancada. “Dá para você verificar se há impressões digitais do americano nisto aqui?” Bocchese fez que sim. “Eu volto mais tarde, está bem?”
O perito repetiu o gesto afirmativo e perguntou: “Só isso?”.
“É.”
“E você quer que eu perca os sacos quando tiver colhido as impressões digitais?”
“Que sacos?”
Bocchese tornou a pegar a tesoura. “Assim que eu terminar de afiá-la”, disse ao mesmo tempo que apertava um botão, fazendo o esmeril girar novamente. O ruído estridente do atrito do metal com o metal abafou o “obrigado” que Brunetti murmurou ao sair.
Achando melhor ir falar com Patta do que esperar que ele o chamasse, Brunetti subiu a escada da frente e parou à porta do gabinete. Bateu, ouviu um murmúrio do outro lado e a abriu. Só então compreendeu, tardiamente, que o som que tinha ouvido não era um convite para entrar.
A cena era uma combinação de caricatura com o grande pesadelo de todo burocrata: Anita, do Ufficio Stranieri, estava perto da janela, os dois primeiros botões da blusa abertos; a um passo dela, ainda recuando, achava-se o vice-questore, vermelho como um pimentão. Ao dar com aquilo, Brunetti deixou cair a pasta para que a moça tivesse oportunidade de lhe dar as costas e abotoar a blusa. Enquanto isso, ele se agachou para pegar a papelada espalhada no chão. Patta se refugiou em seu lugar na escrivaninha. Anita terminou de abotoar a blusa ao mesmo tempo que Brunetti acabou de enfiar os papéis na pasta.
Quando tudo voltou ao que devia ser, o vice-questore se dirigiu a ela, tomando o cuidado de empregar o tratamento lei, mais formal. “Obrigado, signorina. Eu mando entregar os documentos assim que estiverem assinados.”
Anita fez que sim e foi para a porta. Ao passar, endereçou uma piscadela e um sorriso a Brunetti, que fez que não viu.
Quando a moça saiu, ele se aproximou da mesa do vice-questore. “Acabei de chegar de Vicenza, senhor. Da base americana.”
“É mesmo?”, perguntou Patta, o rosto ainda marcado por um resíduo de rubor, no qual Brunetti preferiu fingir não ter reparado. “O que descobriu?”
“Quase nada. Também estive no apartamento dele.”
“Achou alguma coisa?”
“Não, senhor. Nada. Amanhã eu quero voltar lá.”
“Para quê?”
“Para conversar com algumas pessoas que o conheciam.”
“Qual é a utilidade disso? Está na cara que foi um assalto que acabou mal. Que importa saber quem o conhecia ou o que eles têm a dizer sobre a vítima?”
Brunetti reconheceu sinais de grande indignação no superior. Estava prestes a proibi-lo de dar prosseguimento à investigação em Vicenza. Já que convinha explicar aquela morte como um mero caso de latrocínio, era nisso que o vice-questore depositava as esperanças, e, conseqüentemente, nisso concentraria a investigação.
“Estou convencido de que o senhor tem razão. Mas acho que, enquanto não tivermos encontrado o culpado, talvez valha a pena dar a impressão de que o crime se originou fora da cidade. O senhor sabe como são os turistas. Qualquer coisa os assusta e os afasta daqui.”
O tom avermelhado do rosto de Patta desbotou consideravelmente ante essas palavras ou foi só a imaginação de Brunetti? “É bom saber que você concorda comigo, comissário.” O vice-questore fez uma pausa bastante significativa. “Pelo menos uma vez na vida.” Estendeu a mão manicurada com esmero e posicionou a pasta bem no centro da mesa. “Você acha que há alguma conexão com Vicenza?”
Brunetti demorou um pouco a responder, satisfeito com a facilidade com que Patta já estava tratando de transferir a responsabilidade da decisão para o subordinado. “Não sei, senhor. Mas não faria nenhum mal dar a impressão de que há.”
O prolongado silêncio com que o vice-questore acolheu aquelas palavras foi verdadeiramente artístico, sua oposição a qualquer irregularidade nos procedimentos compensada pelo desejo de não deixar pedra sobre pedra na busca da verdade. Tirou sua magnífica Mont Blanc do bolso, abriu a pasta e assinou três papéis, conseguindo tornar cada repetição do nome mais ponderada e, ao mesmo tempo, mais decisiva. “Muito bem, comissário, se você acha que essa é a melhor maneira de cuidar do caso, vá a Vicenza. Nós não podemos deixar os turistas com medo de vir a Veneza, podemos?”
“Não, senhor”, respondeu Brunetti com a voz mais séria do mundo, “claro que não. Mais alguma coisa?”, perguntou sem alterar o tom de voz.
“Não, comissário, isso é tudo. Faça um relatório completo do que descobrir.”
“Claro, senhor.” Já estava indo para a porta, mas se deteve, surpreso, quando o chatíssimo Patta gritou às suas costas:
“Nós vamos entregar o assassino à Justiça”.
“Claro que vamos, senhor”, disse, enfatizando o plural usado pelo superior.
Subiu ao escritório, folheou o exemplar da Panorama que estava na pasta e aguardou cerca de meia hora para que Bocchese colhesse as impressões digitais. Então desceu ao laboratório e, dessa vez, encontrou o perito amolando uma faca de pão. Ao vê-lo entrar, ele desligou a máquina e se pôs a testar o fio da faca com o polegar.
“Por acaso isso aí é um bico que você arranjou?”, perguntou Brunetti.
“Não. De vez em quando, minha mulher me pede para afiar essas coisas. Aliás, se a sua quiser que eu afie alguma faca ou tesoura, é só avisar.”
Brunetti agradeceu com um gesto. “Novidades?”
“Sim, há boas impressões digitais num dos sacos.”
“São dele?”
“São.”
“De mais alguém?”
“Há mais uma ou duas, provavelmente de mulher.”
“E no outro saco?”
“Nada. Está limpo. Ou removeram as impressões ou o manusearam com luvas.” Bocchese pegou uma folha de papel e a cortou com a faca de pão. Satisfeito, colocou-a na escrivaninha e se voltou para Brunetti. “Eu acho que o primeiro saco já tinha sido usado antes...” Interrompeu-se em busca da palavra. “...antes que o usassem para guardar a outra substância.”
“Usado como?”
“Não dá para ter certeza, mas pode ser que tenha sido queijo. Havia vestígios de um resíduo oleoso na parte interna. E é evidente que foi mais manuseado do que o outro, tem rugas e dobras, de modo que eu diria que foi usado para guardar outra coisa, só depois colocaram, ahn... o pó lá dentro.”
Como Brunetti permanecesse calado, perguntou: “Isso não o surpreende?”.
“Não.”
Bocchese tirou uma faca de cozinha de um saco de papel à esquerda do esmeril e experimentou a lâmina com o polegar. “Bom, se precisar de mais alguma coisa, é só dizer. E avise sua esposa que eu amolo facas.”
“Aviso, sim, obrigado”, disse Brunetti. “O que você fez com os sacos?”
Bocchese ligou o aparelho e, aproximando a lâmina da pedra de amolar, olhou para ele. “O que sacos?”
9
Não tendo por que ficar na questura, já que dificilmente obteria novas informações enquanto não retornasse a Vicenza, Brunetti guardou no armário a pasta de documentos e saiu do escritório. Já na porta principal, olhou rapidamente para os lados à procura de alguém que parecesse estar no lugar errado. Tomou a esquerda, rumo ao Campo Maria Formosa, e, a seguir, pegou o caminho de Rialto, preferindo as ruelas secundárias, que lhe permitiriam despistar quem porventura o estivesse seguindo, bem como evitar os alvoroçados turistas, que, invariavelmente, concentravam seus ataques nas imediações de San Marco. A cada ano que passava, era mais difícil ter paciência com eles, acomodar-se ao seu vaivém, à sua insistência em andar lado a lado, em grupos de três, mesmo nas calles mais estreitas. Havia ocasiões em que ele tinha vontade de gritar com os turistas, de empurrá-los até, mas se contentava em extravasar a agressividade simplesmente recusando-se a parar ou a alterar um centímetro de seu percurso para lhes dar oportunidade de tirar uma fotografia. Por isso, estava convencido de que seu corpo, costas, rosto e cotovelo apareciam em centenas de fotos e vídeos; de vez em quando imaginava a decepção de certos alemães, ao assistirem ao vídeo do último verão durante uma violenta tempestade no mar do Norte, e perceberem um italiano decidido, de terno escuro, passar em frente à tia Gerda ou ao tio Fritz, encobrindo, ainda que só por um instante, a visão de suas coxas batatudas, queimadas de sol, saindo da calça de couro, enquanto eles posavam na ponte de Rialto, à porta da Basílica de San Marco ou perto de um gato particularmente charmoso. Ora essa, ele morava lá, portanto, que o deixassem passar antes de tirar aqueles retratos idiotas ou, então, que levassem para casa a foto de um autêntico veneziano, provavelmente o máximo a que qualquer um deles podia chegar em termos de contato significativo com a cidade. E, aliás, não era ótimo voltar tão bem-humorado para casa, para Paola? Especialmente na primeira semana do ano letivo.
Para evitar isso, Brunetti achou melhor parar no Do Mori, seu bar preferido, não muito longe de Rialto. Depois de trocar saudações e conversar um pouco com Roberto, o proprietário grisalho, pediu um copo de Cabernet, a única coisa que lhe apetecia beber. Como tira-gosto, escolheu uma porção de camarões fritos, que nunca faltavam naquele bar, depois resolveu pedir um tramezzino generosamente recheado de presunto e alcachofra. Ao tomar o segundo copo de vinho, começou a se sentir humano pela primeira vez naquele dia. Paola sempre o acusava de ficar intratável quando passava muito tempo sem comer, e ele estava inclinado a admitir que talvez fosse verdade. Pagou e saiu, retornou por Rugetta e foi para casa.
Parou diante da Biancat para examinar as flores na vitrine. O signor Biancat o viu pela enorme vidraça, sorriu e acenou, de modo que ele entrou e pediu uma dúzia de lírios-roxos. Enquanto os embrulhava, o florista contou que estivera na Tailândia, onde participara de uma conferência sobre o cultivo de orquídeas. Embora aquela lhe parecesse uma maneira bem esquisita de ocupar uma semana, Brunetti se lembrou de que, anos antes, tinha passado uma temporada em Dallas e outra em Los Angeles assistindo a seminários da polícia. Quem era ele para dizer que uma semana dedicada às orquídeas era mais esquisita do que uma ocupada em discutir a incidência da sodomia nos criminosos seriais ou os diversos objetos utilizados nos estupros?
A escadaria do prédio geralmente era um ótimo instrumento para aferir estados de espírito. Quando estava bem, Brunetti nem chegava a notar sua existência; mas, quando chegava cansado, as pernas contavam cada um dos noventa e quatro degraus. Aquela noite, era evidente que haviam acrescentado um ou dois lances.
Abriu a porta, antecipando o cheiro doméstico de comida, os variados odores que atribuía ao lugar onde morava. No entanto, ao entrar, sentiu apenas cheiro de café recém-passado, coisa bem distante dos anseios de um homem que havia passado o dia todo trabalhando — sim — nos Estados Unidos.
“Paola?”, chamou, olhando para o corredor que dava na cozinha. A voz dela chegou de outra direção, do banheiro, e então uma onda de ar quente e úmido lhe trouxe um aroma adocicado de sais de banho. Quase oito horas da noite, e ela tomando banho?
Brunetti se aproximou da porta entreaberta. “Você está aí?” A pergunta foi tão absurda que Paola não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, perguntou: “Você vai pôr o terno cinza?”.
“O terno cinza?”, repetiu ele, entrando no banheiro saturado de vapor. Viu a cabeça da esposa, envolta numa toalha, flutuando sem corpo numa densa nuvem de espuma, como se ali tivesse sido cuidadosamente colocada depois da degola. “O terno cinza?”, tornou a dizer, imaginando o casal esquisito que formariam: ele de terno, ela de espuma.
Paola abriu os olhos e lhe endereçou O Olhar, aquele que sempre o levava a se perguntar se ela não estava olhando, através dele, em direção à mala no sótão e calculando quanto tempo levaria para arrumá-la por ele. Isso bastou para lembrar-lhe que aquela era a noite em que iriam ao Casinò com os pais dela, convidados por um velho amigo da família. Isso significava um jantar tardio, escandalosamente caro e, o que era pior ou melhor — coisa que ele era incapaz de decidir —, pago pelo tal amigo da família com o cartão de crédito de ouro ou platina. Depois, sempre passavam uma hora jogando ou, pior ainda, vendo os outros jogarem.
Tendo sido o encarregado da investigação nas duas vezes em que se descobrira que o pessoal do Casinò estava envolvido com vários tipos de fraude e tendo sido, em ambos os casos, o policial que os prendera, Brunetti detestava a pegajosa cortesia que o diretor e os empregados lhe dispensavam. Quando ganhava, desconfiava que o jogo fora manipulado em seu favor; quando perdia, nunca deixava de lhe ocorrer que talvez fosse uma vingança. Em nenhuma situação ele se dava ao trabalho de especular sobre a natureza da sorte.
“Eu estava pensando em pôr o azul-marinho”, disse, mostrando-lhe as flores e curvando-se diante da banheira. “São para você.”
O Olhar foi imediatamente substituído por O Sorriso, que, mesmo depois de vinte anos de casamento, ainda era capaz de deixá-lo de pernas bambas. Uma mão e depois um braço emergiram. Paola lhe tocou o pulso, deixando-o molhado e quente, depois tornou a mergulhar o braço na espuma. “Saio dentro de cinco minutos.” Fitou-o nos olhos. “Se tivesse chegado mais cedo, você também podia tomar banho.”
Brunetti riu e gracejou: “Aí, sim, é que gente acabaria se atrasando para o jantar”. Sem dúvida, sem dúvida. Mas estava arrependido de ter parado no bar para beber. Saiu do banheiro, foi até a cozinha, pôs as flores na pia, tapou o ralo e a encheu de água até cobrir os talos.
Ao entrar no quarto, deu com o vestido vermelho longo de Paola estendido na cama. Não se lembrava daquele, mas raramente se lembrava dos vestidos da esposa, de modo que achou melhor não dizer nada. Se fosse novo, um comentário podia dar a impressão de que ele a estava censurando por comprar roupas demais, e se não fosse pareceria desatenção ou falta de interesse. Brunetti suspirou, pensando na eterna disparidade do casamento, abriu o armário e resolveu pôr o terno cinzento mesmo. Despiu o paletó e a calça, tirou a gravata e examinou a camisa no espelho para ver se podia usá-la aquela noite. Concluindo que não, tirou-a e a pendurou no espaldar de uma cadeira, então começou a se vestir, vagamente irritado por ter de fazê-lo, mas italiano demais para levar em consideração a possibilidade de não o fazer.
Pouco depois, Paola entrou no quarto, os cabelos loiros soltos, a toalha agora enrolada no corpo, e foi para a cômoda onde guardava a lingerie e os suéteres. Distraída, jogou a toalha na cama e se inclinou para abrir a gaveta. Enquanto dava o nó na gravata, Brunetti observou-a pôr uma calcinha e um sutiã pretos. Para se distrair, pensou em física, que ele estudara na faculdade. Sem dúvida, era impossível compreender a dinâmica e as forças de tensão da roupa íntima feminina: tanta coisa para segurar, apoiar, manter no lugar. Terminando de pôr a gravata, tirou o paletó do armário. Paola acabava de fechar o zíper do vestido e estava calçando um par de sapatos pretos. Seus amigos geralmente se queixavam de passar uma eternidade esperando as esposas se vestirem ou se maquiarem; Paola sempre ficava pronta antes dele.
Ela abriu um dos lados do armário e tirou um casaco longo que parecia feito de escamas de peixe. Passou algum tempo olhando para o visom pendurado no fim da fileira de roupas, mas não tardou a esquecê-lo e fechar a porta. Alguns anos antes, seu pai lhe dera aquele visom de Natal, mas fazia uns dois anos que ela não o usava. Brunetti não sabia se era porque estava fora de moda — imaginava que os casacos de pele também saíssem de moda; afinal, tudo que sua mulher e sua filha usavam saía — ou por causa do sentimento cada vez mais generalizado de aversão aos casacos de pele, que se manifestava tanto na imprensa quanto em sua própria casa.
Dois meses antes, um tranqüilo jantar familiar degenerara em uma discussão exaltadíssima sobre os direitos dos animais, seus filhos insistindo em que era errado usar peles, que os animais tinham os mesmos direitos que os seres humanos e que negar isso era cometer “especiecentrismo”, termo que Brunetti tinha certeza de que os dois inventaram só para usá-lo contra ele na discussão. Passara uns dez minutos ouvindo o bate-boca entre os meninos e Paola, eles a reivindicar direitos iguais para todas as espécies do planeta, ela tentando estabelecer a diferença entre animais pensantes e não-pensantes. Por fim, perdendo a paciência com Paola por tentar se opor racionalmente a um argumento que lhe parecia absolutamente idiota, ele estendera o braço e cutucara com o garfo os ossos de frango no prato da filha. “A gente não pode vestir a pele deles, mas pode comê-los, não é?” E, levantando-se, fora tomar uma grapa na sala.
Em todo caso, o casaco de visom continuou no armário, e eles foram para o Casinò.
Desembarcaram do vaporetto na parada de San Marcuola, seguiram pelas ruelas estreitas e atravessaram a ponte arqueada que dava no portão de ferro do Casinò, agora aberto numa espécie de abraço de boas-vindas para todos os que se dispusessem a entrar. Nas paredes externas, visíveis para quem se achava no Canal, estavam inscritas as palavras “Non Nobis”, Não Para Nós, que, na época da república, excluíam os venezianos do Casinò. Só se tomava dinheiro dos estrangeiros, os venezianos deviam investir o deles com sensatez: nada de dissipá-lo na jogatina. Naquela noite infindável que se anunciava, bem que ele desejava que as leis da república ainda estivessem em vigor e o livrassem das horas que o aguardavam.
Entraram no saguão revestido de mármore, e, imediatamente, um subgerente de smoking saiu do balcão de recepção para cumprimentá-los: “Dottor Brunetti, Signora”, com uma mesura que deixou uma ruga horizontal em sua faixa vermelha. “É uma honra recebê-los. Seus amigos estão no restaurante.” Com um gesto tão gracioso quanto a reverência, apontou para a direita, onde o elevador já os aguardava. “Tenham a bondade de vir por aqui, eu os acompanho.”
Paola agarrou a mão de Brunetti e a apertou com força, impedindo-o de dizer que conhecia o caminho. Os três se apinharam no cubículo minúsculo e trocaram sorrisos amabilíssimos enquanto subiam lentamente ao último andar do prédio.
O elevador parou com um solavanco, o subgerente abriu a porta e segurou-a para que eles saíssem, então os conduziu ao iluminado restaurante. Brunetti o acompanhou olhando ao redor, à procura da saída mais próxima e de alguém potencialmente violento, exame que fazia automaticamente toda vez que entrava num lugar público. No canto junto a uma janela que dava para o Canale Grande, avistou os sogros e os Pastore, um casal idoso de Milão, padrinhos de Paola e velhos amigos de seus pais e que, por esse motivo, estavam acima de qualquer censura ou crítica.
Quando eles se aproximaram da mesa redonda, os dois senhores de ternos escuros idênticos na qualidade, ainda que diferentes na cor, se levantaram. O pai de Paola beijou o rosto da filha e apertou a mão do genro; o dr. Pastore se curvou para beijar a mão da afilhada e abraçou Brunetti, beijando-lhe as duas bochechas. Este, que nunca se sentia totalmente à vontade com aquele sujeito, achou a demonstração de intimidade sumamente desagradável.
Uma das coisas que estragavam aqueles jantares, aquele ritual anual que ele havia herdado ao se casar com Paola, era sempre chegar à conclusão de que a comida fora escolhida pelo dr. Pastore. Naturalmente, o sogro era solícito e insistia em dizer que esperava que ninguém se incomodasse se ele tomasse a liberdade de escolher, mas era a estação perfeita para comer isso, a estação perfeita para pedir aquilo, as trufas estavam excelentes, os primeiros cogumelos acabavam de chegar. E sempre tinha razão, e o jantar era sempre uma delícia, mas Brunetti se irritava por não poder pedir o que lhe desse na telha, mesmo que não fosse tão bom quanto o que acabavam comendo. E todo ano se censurava por ser burro e teimoso, mas não conseguia deixar de se irritar ao chegar e constatar que a refeição já tinha sido planejada e pedida sem que o consultassem. Ego masculino contra ego masculino? Decerto não passava disso. O que menos importava, no caso, eram as questões de cozinha e de gosto.
Depois das saudações de praxe, colocou-se a questão de onde se sentar. Brunetti acabou ficando de costas para a janela, à direita do dr. Pastore e em frente ao pai de Paola.
“É uma alegria revê-lo, Guido”, disse o milanês. “Orazio e eu estávamos justamente falando de você.”
“Falando mal, espero”, riu-se Paola, mas logo voltou a atenção para a mãe, que estava examinando o tecido de seu vestido, sinal de que devia ser novo, e para a signora Pastore, que continuava lhe segurando a mão.
Brunetti endereçou ao dr. Pastore um olhar educadamente inquisitivo. “Nós estávamos falando nesse americano. É você que está cuidando do caso, não?”
“Sim, dottore, sou eu.”
“Por que iriam matar um americano? Ele era soldado, não? Assalto? Vingança? Ciúme?” Italiano que era, não lhe ocorria mais nada.
“Talvez”, disse Brunetti, respondendo as cinco perguntas com uma só palavra. Calou-se quando um par de garçons se aproximou com duas travessas enormes de antipasto de frutos do mar. Todos foram servidos. Tranqüilo, mais interessado no crime do que na comida, o médico esperou que todos provassem e elogiassem o antepasto e, então, voltou ao tema inicial.
“Você tem alguma idéia?”
“Nada concreto”, respondeu Brunetti, e comeu um camarão.
“Drogas?”, quis saber o pai de Paola, ostentando muito mais sofisticação intelectual do que o amigo.
Brunetti repetiu o “talvez” e continuou atacando os camarões, encantado por descobri-los frescos e doces.
Ao ouvir a palavra “drogas”, a mãe de Paola se voltou e perguntou do que eles estavam falando.
“Do último homicídio de Guido”, respondeu-lhe o marido, dando a impressão de que se tratava de um crime que seu genro havia cometido, não que estava encarregado de solucionar. “Tenho certeza de que foi um assalto. Que nome dão a isso nos Estados Unidos... um mugging?” Surpreendentemente, a voz lhe saiu parecida com a de Patta.
Como a signora Pastore não tinha ouvido falar no crime, seu marido teve de repetir a história toda, virando-se ocasionalmente para Brunetti a fim de pedir detalhes ou confirmação. Este não se sentiu incomodado, pois a conversa fez com que o jantar passasse mais depressa que de costume. E assim, falando em homicídios e outros crimes, deram conta do risoto, do peixe grelhado, dos quatro legumes, da salada, do tiramisù e do café.
Enquanto os homens tomavam grapa, o dr. Pastore, como fazia todos os anos, convidou delicadamente as damas a o acompanharem ao Casinò. Elas aceitaram, e ele, com um prazer que se renovava ano a ano, reagiu tirando três saquinhos de camurça do bolso interno do paletó e colocando-os diante de cada uma delas.
Como fazia todo ano, Paola protestou: “Oh, dottore, não precisava...”. E, ao mesmo tempo, abriu o dela e tirou as fichas de jogo que os saquinhos sempre continham. Brunetti notou que era a mesmíssima combinação de todos os anos, sabendo que havia um total de duzentas mil liras para cada mulher, o suficiente para que se mantivessem ocupadas enquanto ele passava uma ou duas horas jogando vinte-e-um e geralmente ganhando muito mais do que havia gastado para distrair as damas.
Os três cavalheiros se levantaram, ajudaram delicadamente as senhoras a fazê-lo, e os seis desceram ao andar em que ficavam os salões de jogo.
Como o elevador não comportava todos, as mulheres embarcaram, e os homens usaram a escada. Com o conde Orazio à sua direita, Brunetti inventou uma tolice qualquer para puxar conversa.
“O senhor sabia que Richard Wagner morreu aqui?”, perguntou, sem ter idéia de como sabia disso, já que o alemão estava longe de ser o seu compositor predileto.
“Sabia”, respondeu o sogro. “E morreu tarde.”
Então, por sorte, chegaram ao principal salão de jogo, e, separando-se do genro com um sorriso amável e uma mesura quase imperceptível, o conde Orazio foi ver a esposa jogar roleta.
A primeira vez que Brunetti entrou num cassino não foi em Veneza, onde só os jogadores compulsivos ou profissionais davam atenção às mesas, mas em Las Vegas, cidade que visitou muitos anos antes, quando estava viajando pelos Estados Unidos. Como foi lá que teve a primeira experiência com o jogo, sempre associava a atividade com as luzes fortes, a música em alto volume e a gritaria dos que ganhavam ou perdiam. Recordava o show num palco, as bexigas cheias de hélio batendo no teto, as pessoas de camiseta, jeans, bermuda. Conseqüentemente, embora fosse todo ano ao Casinò, sempre se surpreendia ao dar com aquela atmosfera que lembrava um museu de arte ou, pior ainda, uma igreja. Pouca gente sorria, as vozes nunca se elevavam acima de um sussurro e ninguém parecia se divertir. Em meio àquela solenidade, Brunetti sentia falta dos gritos de vitória ou derrota, dos incontidos urros de alegria que acompanhavam as viradas da sorte.
Não havia nada disso ali, nada mesmo. Homens e mulheres, todos muito bem-vestidos, guardavam um silêncio reverente em torno da mesa da roleta, colocando as fichas no tabuleiro de feltro. Silêncio, pausa, então o crupiê punha a roda em rápido movimento, jogava a bolinha, e todos os olhares se fixavam no metal e nas cores, e assim ficavam até que a roda fosse perdendo velocidade e finalmente parasse. Qual uma serpente, o rodo do crupiê avançava e recuava no tabuleiro, recolhendo as fichas dos perdedores e empurrando algumas para os ganhadores. E então todos os movimentos se repetiam, a agitação, o giro e os olhos fixamente presos na roda a girar. Por que, ele se perguntou, tantos homens usavam anel no dedo mínimo?
Interessado em observar o ambiente, Brunetti se dirigiu ao salão contíguo, quase sem se dar conta de que estava se separando do resto do grupo. Numa sala, encontrou as mesas de vinte-e-um e avistou o dr. Pastore já instalado em uma delas, a pequena pilha de fichas arrumada com precisão cirúrgica à frente dele. Viu-o pedir uma carta, tirar um seis, parar, aguardar que os outros jogassem e então abrir as cartas que acompanhavam o seis: um sete e um oito. Sua pilha de fichas aumentou; Brunetti se afastou.
Ali todo mundo fumava. Em uma mesa de bacará, um jogador estava com dois cigarros acesos no cinzeiro e um terceiro entre os lábios. Havia fumaça por toda parte: em seus olhos, cabelo e roupa; uma densa nuvem que podia ser cortada e agitada com a mão. Ele foi para o bar e pediu uma grapa, não por vontade de beber, mas pelo tédio de ficar vendo o jogo alheio.
Sentou-se num sofá de veludo e se pôs a observar os jogadores no salão; de vez em quando, bebericava a aguardente. Fechou os olhos e assim ficou alguns minutos, relaxando. Sentiu um movimento no sofá e, sem abrir os olhos nem mover a cabeça reclinada no espaldar, entendeu que Paola acabava de se sentar ao seu lado. Ela pegou o copo de sua mão, tomou um trago e o devolveu.
“Cansado?”, perguntou.
Com preguiça de falar, Brunetti fez que sim.
“Está bem. Venha, a gente joga roleta mais um pouco e vai para casa.”
Ele se voltou, abriu os olhos e sorriu. “Eu te amo, Paola”, disse, depois inclinou a cabeça e bebeu mais um pouco. Quantos anos fazia que não dizia aquilo? Olhou para ela quase com vergonha. Paola sorriu, inclinou-se e lhe beijou a boca. “Vamos”, disse, levantando-se e estendendo as mãos para ajudá-lo. “Vamos perder esse dinheiro e voltar para casa.” Estava com cinco fichas de cinqüenta mil liras na mão, o que significava que tinha ganhado. Entregou-lhe duas e ficou com as outras.
No salão principal, demoraram alguns minutos para conseguir se aproximar da mesa da roleta. Ele aguardou duas rodadas e, então, sem saber por quê, decidiu que tinha chegado o momento certo de jogar. Às cegas, colocou as duas fichas no tabuleiro, uma sobre a outra. Só depois viu que estavam no número vinte e oito, o qual não tinha nenhum significado para ele. Paola pôs as dela no preto.
O giro da roda, os olhares atentos, a espera e, tal como Brunetti esperava, a bolinha parou precisamente na casa número vinte e oito, e ele ganhou mais de três milhões de liras. Quase o salário de um mês, férias para a família no verão, um computador para Chiara. Brunetti viu o rodo do crupiê deslizar em sua direção, empurrando fichas e fichas no feltro até que estivessem diante dele. Recolheu-as, sorriu para Paola, e num tom de voz que havia anos não se ouvia no Casinò, gritou em inglês: “Hot damn”.
10
Na manhã seguinte, como não tinha necessidade de ir à questura, Brunetti ficou em casa até a hora de tomar o trem para Vicenza. Mas telefonou para o maggiore Ambrogiani, pedindo-lhe que mandasse o motorista ir buscá-lo na estação.
Ao passar de trem pelo viaduto, afastando-se da cidade, olhou para as montanhas distantes, raramente visíveis naquela época. Ainda não estavam cobertas de neve, mas ele esperava que ficassem em breve. Era o terceiro ano de seca: pouca chuva na primavera, nenhuma no verão, colheita ruim no outono. Aquele ano, os agricultores haviam depositado as esperanças na neve do inverno, e Brunetti recordou o adágio dos camponeses do Friuli, gente muito séria e trabalhadora: “Sotto la neve, pane; sotto la pioggia, fame”. Sim, a neve do inverno daria pão, liberando vagarosamente suas águas durante a estação de crescimento, ao passo que a chuva, que se esgotava rapidamente, não produzia senão fome.
Dessa vez, não levou a pasta de documentos; era improvável que encontrasse cocaína dois dias seguidos, mas comprou um jornal na estação e o leu de ponta a ponta enquanto o trem percorria as planícies rumo a Vicenza. Nenhuma referência ao americano morto; em vez disso, noticiava-se um crime passional em Módena, um dentista que se suicidara depois de estrangular a mulher que se recusara a casar com ele. Brunetti passou o resto da viagem lendo o noticiário político e chegou a Vicenza tão informado quanto ao sair de Veneza.
Na estação, aguardava-o o mesmo motorista do dia anterior, mas que, dessa vez, fez questão de descer e abrir a porta para o comissário. Chegando ao portão da base militar, parou sem que o mandassem e esperou que o carabiniere expedisse um passe para Brunetti. “Aonde o senhor quer ir?”
“Onde fica o Departamento de Saúde Pública?”
“No hospital.”
“Vamos para lá.”
O motorista entrou na longa rua principal da base norte-americana, e Brunetti voltou a se sentir num país estrangeiro. Havia pinheiros em ambos os lados. O automóvel passou por homens e mulheres de shorts, uns de bicicleta, outros empurrando carrinhos de bebê. Não faltavam atletas fazendo jogging; o carro passou até por uma piscina ainda cheia, se bem que sem nenhum banhista.
Chegaram a um prédio de alvenaria parecido com todos os demais: “Hospital da Base de Vicenza”. “É aqui, senhor”, disse o motorista, estacionando numa vaga reservada a deficientes físicos e desligando o motor.
Lá dentro, havia um balcão de recepção baixo e curvo. A recepcionista olhou para ele e sorriu. “Pois não?”
“Eu estou procurando o Departamento de Saúde Pública.”
“Vá por esse corredor e vire à direita. Terceira porta à esquerda”, informou a moça, já se voltando para uma grávida fardada que acabava de chegar e se colocara ao lado dele. Brunetti se afastou e tomou o rumo indicado, contente por não ter se virado para olhar para a mulher fardada, grávida e fardada.
Parou em frente à porta cuja placa dizia saúde pública e bateu. Ninguém atendeu, e ele tornou a bater. Como o silêncio persistisse, girou a maçaneta, abriu-a e entrou. Na pequena sala havia três escrivaninhas de metal, cada qual com uma cadeira à frente, e dois armários de arquivo, ambos com vasos de plantas retorcidas, de aspecto exausto, pedindo que as regassem e lhes tirassem o pó. Na parede, um previsível quadro de aviso coberto de notas e gráficos. Duas escrivaninhas repletas do detrito burocrático normal: papéis, formulários, classificadores, canetas e lápis. Na terceira, um monitor de computador com teclado; à parte isso, nada mais. Brunetti se sentou na cadeira obviamente destinada aos visitantes. Um dos telefones — cada mesa tinha o seu — começou a tocar e assim continuou durante alguns minutos. Cansado de esperar, ele foi até a porta e saiu para o corredor. Vendo uma enfermeira passar, perguntou se ela sabia onde estava o pessoal do departamento.
“Eles já voltam, senhor”, respondeu a moça, recorrendo ao código internacionalmente reconhecido, segundo o qual os colegas de trabalho se protegem mutuamente diante de estranhos, que sempre podem ter sido enviados para verificar quem estava trabalhando ou não. Brunetti voltou a entrar e fechou a porta.
Como em qualquer escritório, lá havia as habituais charges, cartões-postais e bilhetes em meio aos avisos oficiais. Em todos os desenhos, os personagens eram soldados ou médicos, e muitos cartões-postais estampavam minaretes ou sítios arqueológicos. Brunetti desprendeu um deles e leu que Bob mandava lembranças da Mesquita Azul. O segundo revelou que Bob gostava muito do Coliseu. Mas o terceiro, com um camelo diante das pirâmides, era bem mais interessante, pois dizia que M e T haviam concluído a inspeção das cozinhas e pretendiam retornar na terça-feira. Ele o recolocou no lugar e se afastou do quadro de aviso.
“Pois não?”
Brunetti identificou a voz, virou-se, e a dra. Peters o reconheceu. “Comissário Brunetti, o que o senhor está fazendo aqui?” Sua surpresa era autêntica.
“Bom dia, doutora. Eu não disse que viria colher mais informações sobre o sargento Foster? Disseram que o Departamento de Saúde Pública era aqui, e eu vim na esperança de conhecer as pessoas que trabalhavam com ele. Mas, como a senhora está vendo”, fez um gesto, abrangendo todo o escritório, e aproveitou para se afastar um pouco mais do quadro de aviso, “não encontrei ninguém.”
“O pessoal está em reunião. Decidindo como dividir o trabalho até que encontremos um substituto para Mike.”
“A senhora não vai participar dessa reunião?”
Ela tirou um estetoscópio do bolso do avental branco e disse: “Esqueceu que eu sou pediatra?”.
“Ah.”
“Eles não demoram. Com quem o senhor quer falar?”
“Não sei. Com qualquer um que trabalhava com ele.”
“Eu expliquei que Mike cuidava do departamento praticamente sozinho.”
“Então não vale a pena falar com ninguém?”
“Isso eu não posso dizer, comissário: não sei o que o senhor quer saber.”
Imaginando que a irritação da moça se devesse ao nervosismo, Brunetti preferiu mudar de assunto. “A senhora sabe se o sargento Foster bebia?”
“Se ele bebia?”
“Álcool.”
“Muito pouco.”
“Usava drogas?”
“Que tipo de droga?”
“Ilegal.”
“Não”, respondeu ela com firmeza, cheia de convicção.
“A senhora parece ter muita certeza disso.”
“Tenho certeza porque o conhecia bem, e também porque era a superior dele e tinha acesso aos prontuários médicos.”
“E isso consta no prontuário?”, perguntou Brunetti.
Ela fez que sim. “Aqui no exército, todo mundo pode ser submetido a teste de drogas a qualquer momento. Em geral, a gente faz exame de urina uma vez por ano.”
“Até os oficiais?”
“Até os oficiais.”
“Os médicos também?”
“Os médicos também.”
“E a senhora viu o resultado dos testes dele?”
“Vi.”
“Quando ele fez o último?”
“Não me lembro. Deve ter sido no verão passado.” Ela transferiu de uma mão para a outra as pastas que trazia. “Não sei por que o senhor está perguntando isso. Mike não usava drogas. Pelo contrário. Era inimigo das drogas. A gente sempre discutia isso.”
“Como assim? Por quê?”
“Eu não tenho nada contra as drogas. Pessoalmente, não me interesso por elas, mas acho que quem quiser usá-las tem o direito de fazê-lo.” Como Brunetti permanecesse calado, a médica prosseguiu. “Olhe, eu estou aqui para cuidar das crianças, mas, devido à falta de pessoal, também atendo boa parte das mães, e muitas delas vêm me pedir para renovar a receita de Valium e Librium. Quando eu me recuso, porque acho que estão tomando demais, elas simplesmente esperam um ou dois dias, voltam, marcam consulta com outro médico e, cedo ou tarde, acabam conseguindo o que querem. Para muitas delas, seria melhor se as deixassem fumar um baseado de vez em quando.”
Brunetti se perguntou como tal opinião era recebida pelos médicos e pelas autoridades militares, mas achou melhor não fazer comentários. Mesmo porque não estava interessado em saber a opinião da dra. Peters acerca do consumo de drogas, e sim se o sargento Foster as consumia ou não. E também por que ela havia mentido ao dizer que nunca viajava com ele.
A porta se abriu e entrou um homem troncudo, de meia-idade, trajando uniforme verde-oliva. Surpreendeu-se ao dar com Brunetti, mas evidentemente reconheceu a médica.
“A reunião já terminou, Ron?”
“Já”, respondeu ele, olhando uma vez mais para Brunetti, curioso para saber quem era.
“Este é o primeiro-sargento Wolf”, disse a dra. Peters. “Sargento, este é o comissário Brunetti, da polícia de Veneza. Veio colher informações sobre Mike.”
Antes de prosseguir, aguardou que os dois se cumprimentassem e trocassem amenidades. “Acho que o sargento Wolf pode lhe dar uma idéia mais clara do que o sargento Foster fazia, senhor Brunetti. Ele é o encarregado de todos os contatos do hospital fora do posto.” Voltou-se para a porta. “Fique à vontade, eu preciso cuidar dos meus pacientes.” Brunetti fez que sim, e ela saiu rapidamente do escritório.
“O que o senhor deseja saber, comissário?”, perguntou o sargento Wolf. “Quer ir à minha sala?”
“O senhor não trabalha aqui?”
“Não. Eu sou da equipe administrativa. Os nossos escritórios ficam do outro lado do prédio.”
“Então quem trabalha aqui?”, perguntou Brunetti, apontando para as escrivaninhas.
“Aquela é a mesa de Mike. Era a mesa de Mike”, corrigiu-se. “A outra é do sargento Dostie, mas ele está em Varsóvia. Os dois usavam o mesmo computador.”
Até onde a águia americana estendia as asas? “Quando ele volta?”
“Acho que na semana que vem.”
“E faz tempo que viajou?” Brunetti achou que essa formulação era menos direta do que perguntar quando ele havia partido.
“Pouco antes da morte de Mike”, informou Wolf, respondendo efetivamente à pergunta de Brunetti e eliminando qualquer suspeita sobre o sargento Dostie. “Vamos para o meu escritório?”
Brunetti saiu da sala e o acompanhou pelos corredores do hospital, procurando se lembrar do caminho que estavam percorrendo. Passaram por várias portas de vaivém duplas, seguiram por um corredor imaculadamente limpo, passaram por outras portas de vaivém, e então Wolf se deteve diante de uma que estava aberta.
“Não é grande coisa, mas eu chamo de lar”, disse, com surpreendente simpatia. Deu passagem a Brunetti, entrou atrás dele e fechou a porta. “Não quero que nos perturbem”, sorriu, ao mesmo tempo que se instalava na escrivaninha, numa cadeira giratória revestida de couro artificial. A maior parte do tampo estava coberta por um enorme calendário de mesa, sobre o qual havia pastas, caixas de entrada e de saída e um telefone. À direita, via-se a fotografia com moldura de metal de uma asiática com três crianças pequenas, aparentemente os filhos de um casamento mestiço.
“Sua esposa?”, perguntou Brunetti, sentando-se à frente do americano.
“É. Bonita, não?”
“Muito.”
“E estes são os nossos filhos. Joshua tem dez anos; Melissa, seis; e Jessica, um.”
“Bonita família”, sorriu Brunetti.
“Sim, muito bonita. Não sei o que seria de mim sem ela. Eu vivia dizendo a Mike que era disso que ele precisava: casar e se estabilizar na vida.”
“Ele estava precisando se estabilizar?”, indagou Brunetti, interessado no fato de que era justamente isso que os homens casados e com muitos filhos desejavam para os solteiros.
“Bom, sei lá”, disse Wolf, apoiando os cotovelos na mesa. “Mike já estava com vinte e cinco anos. Idade para inaugurar uma família.”
“O sargento Foster tinha namorada para ajudá-lo nisso?”
Wolf o encarou, depois olhou para a mesa. “Que eu saiba, não.”
“Ele gostava de mulheres?” Se Wolf entendeu que o corolário da pergunta era saber se ele gostava de homens, não deu o menor sinal.
“Acho que gostava. Eu não o conhecia tão bem assim. Só aqui no trabalho.”
“O sargento Foster não tinha um amigo especial aqui?”, insistiu Brunetti. Wolf sacudiu a cabeça. “A doutora Peters ficou muito abalada ao ver o corpo dele.”
“Bom, fazia mais ou menos seis meses que trabalhavam juntos. O senhor não acha normal ela ficar abalada em tais circunstâncias?”
“Claro que sim”, respondeu Brunetti sem dar mais explicações. “Mais alguém?”
“Não, não me ocorre ninguém.”
“Talvez eu possa perguntar ao senhor Dostie quando ele voltar.”
“Sargento Dostie”, corrigiu-o Wolf automaticamente.
“Ele conhecia bem o sargento Foster?”
“Isso eu não sei, comissário.” Brunetti achou curioso que aquele sujeito não soubesse de nada, nem mesmo sobre o que um homem que trabalhava com ele fazia... “Fazia tempo que o sargento Foster trabalhava com o senhor?”
Wolf se encostou na cadeira, olhou rapidamente para a fotografia, como se sua esposa pudesse lhe assoprar a resposta. “Três anos. Desde que chegou.”
“Entendo. E há quanto tempo o sargento Dostie trabalha aqui?”
“Há uns quatro anos.”
“Como ele era, sargento Wolf?”, perguntou Brunetti, voltando a se referir ao morto.
Dessa vez, Wolf consultou os filhos com os olhos antes de responder. “Era um soldado excelente. A ficha dele confirma isso. Tinha muita tendência a se isolar, mas é porque estava estudando e levava o curso muito a sério.” Fez uma pausa, como que procurando algo mais profundo para dizer. “Era um indivíduo muito dedicado.”
“Como?”, perguntou Brunetti, sinceramente intrigado. Dedicado. A que Foster se dedicava? “Acho que não entendi bem.”
Wolf explicou com prazer. “É o que vocês, italianos, chamam de simpatico, sabe?”
“Ah.” Como era esquisita a linguagem daquela gente. Brunetti procurou ser mais direto. “O senhor gostava dele?”
O militar ficou claramente surpreso com a pergunta. “Bom, gostava, acho que gostava. Quer dizer, nós não éramos amigos nem nada, mas ele era um cara legal.”
Brunetti tirou do bolso o caderno de anotações. “Qual era exatamente a função dele?”
“Bom”, disse o sargento Wolf, entrelaçando as mãos na nuca e reclinando-se mais confortavelmente na cadeira, “Mike cuidava dos alojamentos, verificava se os proprietários estavam observando os padrões. Sabe como é, se havia água quente, calefação no inverno. E, no caso dos inquilinos, tinha de averiguar se não estavam danificando os imóveis. Quando um proprietário telefona, dizendo que um inquilino está criando um problema sanitário, nós vamos investigar.”
“Que tipo de problema sanitário?”, perguntou Brunetti com genuína curiosidade.
“Ah, muita coisa. Não levar o lixo para fora ou colocá-lo muito perto da casa. Ou não limpar a sujeira dos animais de estimação. Muita coisa.”
“O que vocês fazem?”
“Nós estamos autorizados, não, nós temos o direito de entrar nos imóveis.”
“Mesmo se os moradores se opuserem?”
“Principalmente se se opuserem”, riu-se Wolf. “Geralmente é sinal de que o lugar está emporcalhado.”
“O que vocês fazem então?”
“Inspecionamos o imóvel para ver se há algum risco para a saúde.”
“Isso acontece com freqüência?”
Wolf fez menção de responder, mas preferiu refletir um pouco; Brunetti se deu conta de que estava calculando o quanto podia revelar a um italiano, qual seria a sua reação a essas histórias referentes aos americanos. “De vez em quando, surge um caso ou outro”, respondeu ele em tom neutro.
“E então?”
“Bom, nós os mandamos limpar tudo e notificamos o comandante, e eles têm um prazo para resolver o problema.”
“E se não o resolverem?”
“Levam um Artigo Quinze.”
Brunetti lhe endereçou um doce sorriso. “Artigo Quinze?”
“É uma espécie de repreensão oficial. Fica registrada na ficha permanente, e isso pode vir a ser um grande problema.”
“Por exemplo?”
“Pode lhes custar o salário, um rebaixamento de posto e, às vezes, até a expulsão do exército.”
“Por não limparem a casa?”, perguntou Brunetti, incapaz de dissimular a surpresa.
“Comissário, se o senhor visse algumas dessas casas, ficaria com vontade de expulsá-los do país.” O primeiro-sargento se calou um instante antes de prosseguir. “E Mike também examinava as cozinhas das embaixadas, principalmente quando surgia um caso de doença ou, pior, quando muita gente começava a adoecer. No ano passado, houve um surto de hepatite em Belgrado, e ele teve de fazer a vistoria.”
“Mais alguma coisa?”
“Não, nada importante.”
Brunetti sorriu. “No caso em questão, eu não tenho condições de saber o que é importante ou não, sargento Wolf, mas gostaria de ter uma idéia clara da função dele.”
O militar retribuiu o sorriso. “Claro. Eu compreendo. Ele também verificava se as crianças, na escola, tinham sido vacinadas. Sabe, contra rubéola, catapora. E averiguava se a radiação tinha sido encaminhada adequadamente, isso e outras coisas que a gente não pode mandar para um aterro sanitário comum. E havia certa quantidade de informação sobre saúde pública da qual ele se encarregava.” Deu o discurso por concluído. “É isso, creio.”
“Radiação?”
“Sim, as radiografias da clínica odontológica e mesmo as daqui do hospital. Precisam ser descartadas de acordo com normas especiais. Não se pode jogá-las no lixo.”
“O que vocês fazem com elas?”
“Oh, nós temos um contrato com uma transportadora italiana que vem uma vez por mês e leva tudo. Mike controlava isso, verificava se os contêineres tinham sido levados.” Wolf sorriu. “É mais ou menos isso.”
Brunetti devolveu o sorriso e se levantou. “Obrigado, sargento. O senhor foi muito útil.”
“Bom, espero que sim. Nós todos aqui gostávamos de Mike e é claro que queremos que o senhor prenda quem o matou.”
“Sim, claro”, disse Brunetti, oferecendo-lhe a mão. “Não quero tomar mais o seu tempo, sargento.”
Levantando-se, o americano lhe apertou a mão com firmeza e segurança. “Foi um prazer ajudá-lo, comissário. Se o senhor tiver mais perguntas, volte quando quiser. Estou às suas ordens.”
“Obrigado, sargento. Pode ser que eu volte mesmo.”
No corredor, Brunetti refez o caminho até o Departamento de Saúde Pública e tornou a bater na porta. Aguardou alguns segundos e, como ninguém atendesse, entrou. Como ele esperava, a Mesquita Azul e o Coliseu continuavam no mesmo lugar. As pirâmides tinham desaparecido.
11
De volta ao saguão, Brunetti perguntou à primeira pessoa que encontrou, uma enfermeira negra, onde poderia localizar a dra. Peters. Ela disse que estava justamente a caminho da Enfermaria B, onde a médica trabalhava, e se ofereceu para conduzi-lo. Tomando a direção oposta, os dois passaram por outra série de portas duplas, mas, dessa vez, as pessoas com que cruzavam estavam vestidas de branco ou com o macacão verde-claro do pessoal da cirurgia, não de farda verde-oliva. Passaram por uma porta cuja placa informava que aquela era a sala de recuperação e, mais adiante, à direita, ele ouviu choro de bebês. Olhou para a enfermeira, que, sorrindo, balançou a cabeça. “São três, todos nasceram esta semana.”
Brunetti pensou, com seus botões, que os bebês faziam muito mal em nascer numa instalação militar, cercados de armas, de fardas e do ofício de matar. Mas lembrou que também tinha visto uma biblioteca, uma capela, uma piscina e uma sorveteria Baskin Robbins naquela mesma instalação militar, de modo que nascer lá talvez não fosse tão absurdo assim. Afinal, ele não vira quase nada relacionado com atividade bélica, com matar, com estar no exército. Acaso os americanos sabiam onde seu dinheiro ia parar? Tinham noção de como o esbanjavam? Italiano que era, estava convencido de que a única coisa que o governo fazia com seriedade e empenho era jogar dinheiro fora, de preferência nas proximidades do bolso dos amigos, mas nunca lhe ocorrera que o governo norte-americano talvez tivesse a tendência de fazer a mesma coisa.
“O consultório da doutora Peters é aqui, senhor. Ela deve estar atendendo, mas não demora.” A moça sorriu e seguiu seu caminho sem perguntar quem ele era ou o que queria.
O consultório era como qualquer outro que Brunetti conhecia. Uma das paredes estava forrada de livros grossos, com títulos mais grossos ainda; a um canto, havia uma balança com uma vara corrediça de metal para medir a altura. Ele subiu na pequena plataforma e deslocou o peso, na barra horizontal, até que fizesse um clique no número 193. Calculou mentalmente, dividindo-o por 2,2, e não pôde conter um suspiro ao chegar ao resultado. Mediu sua altura, cinco pés e dez polegadas, mas não se animou a convertê-los ao sistema métrico: não era capaz disso sem lápis e papel. Ademais, sabia que a altura dificilmente o trairia tanto quanto o peso.
Havia alguns pôsteres na parede: uma previsível fotografia do Carnevale, de Fulvio Roiter; uma reprodução dos mosaicos de San Vitale, em Ravena; a foto ampliada de umas montanhas denteadas que pareciam ser as Dolomitas. Como era comum nos consultórios, a parede da direita estava coberta de diplomas emoldurados, talvez porque os médicos temessem que duvidassem deles, a menos que pendurassem a prova de sua qualificação num lugar bem visível. “Emory University.” Coisa que não significava nada para Brunetti. “Phi Beta Kappa.” Outro enigma. “Summa Cum Laude.” Bem, isso sim, sem dúvida.
Havia uma revista fechada na mesa. Family Practice Journal. Ele a pegou, folheou-a e se deteve num artigo que apresentava fotografias coloridas de coisas parecidas com pés humanos, porém deformadíssimos, quase irreconhecíveis, com dedos que cresciam para todos os lados, dedos que se enrolavam para cima, na direção do peito do pé, ou, o que era pior, dedos que se enrolavam para baixo, na direção da sola. Brunetti passou algum tempo examinando as imagens e então, quando ia começar a ler o artigo, sentiu um movimento ao seu lado, ergueu a vista e deu com a dra. Peters plantada à porta. Sem preâmbulos, ela tirou a revista de sua mão, fechou-a e tratou de colocá-la na outra extremidade da escrivaninha, longe do seu alcance.
“O que o senhor está fazendo aqui?”, perguntou sem ocultar a surpresa nem a irritação.
Ele se levantou. “Peço desculpas por ter mexido nas suas coisas, doutora. Eu vim conversar um pouco, caso a senhora tenha tempo. Vi a revista ali e resolvi dar uma olhada enquanto esperava. Por favor, não se zangue.”
A médica se deu conta de que havia exagerado. Brunetti notou seu esforço para recobrar o autocontrole. Por fim, ela se sentou na cadeira em frente à escrivaninha e, tentando sorrir, disse: “Bom, antes a revista do que a minha correspondência”. Com essas palavras, o sorriso pareceu mais autêntico. A médica apontou para a revista agora fechada. “Isso acontece com os velhos. Perdem a flexibilidade para se curvar e cortar as unhas dos pés, mas elas não param de crescer, e, como o senhor viu, os pés acabam ficando horrivelmente deformados.”
“É melhor ser pediatra”, comentou Brunetti.
Ela sorriu novamente. “É mesmo, muito melhor. Vale mais a pena investir o tempo nas crianças.” Colocou o estetoscópio sobre a revista. “Mas o senhor não está aqui para discutir a minha escolha profissional, comissário. O que quer saber?”
“Eu quero saber por que a senhora mentiu sobre a viagem que fez ao Cairo com o sargento Foster.”
Brunetti viu que a moça não se surpreendeu, que talvez estivesse esperando a pergunta. Ela cruzou as pernas, os joelhos mal visíveis sob a barra da saia verde-oliva por baixo do avental branco. “Quer dizer que o senhor também lê a minha correspondência?”, perguntou. Ele não disse nada, e ela prosseguiu. “Não quero que ninguém aqui saiba o que aconteceu.”
“Doutora, a senhora mandou o cartão-postal para cá, com os nomes dos dois, ou melhor, as iniciais. Não há de ser segredo para ninguém que foram juntos para o Cairo.”
“Ora, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Não quero que saibam o que aconteceu. O senhor estava presente quando eu vi o corpo dele. Portanto sabe.”
“Por que não quer que ninguém saiba? A senhora é casada?”
“Não”, disse a médica, sacudindo a cabeça com desânimo ante a incapacidade de Brunetti de compreendê-la. “Se fosse só isso, não seria tão grave. Mas eu sou oficial, e Mike era soldado. Isso é fraternização, uma coisa proibida.” Fez uma demorada pausa. “Uma das muitas coisas proibidas.”
“O que aconteceria se descobrissem?”
A dra. Peters deu de ombros. “Não sei. Um de nós seria advertido, talvez punido. Talvez até mesmo transferido para outro lugar. Mas agora já não tem a menor importância, não é mesmo?” Fitou-o diretamente nos olhos.
“Não, acho que não. Isso ainda pode prejudicar a sua carreira?”
“Eu saio do exército daqui a seis meses, senhor Brunetti. Ninguém vai se importar com isso agora, e, se se importarem, eu não dou a mínima. Não tenho intenção de fazer carreira no exército, mas, mesmo assim, não quero que ninguém saiba. O que eu quero é sair daqui e retomar a minha vida.” Calou-se um momento, examinou-o com o olhar e continuou. “O exército me colocou na faculdade de medicina. Eu não tinha como pagar os estudos, nem minha família. Eles me deram os seis anos de faculdade e, em troca, eu estou dando a eles quatro anos de trabalho. São dez anos, senhor Brunetti, dez longos anos. Aliás, eu nem devia estar dizendo que quero retomar a minha vida. O que eu quero é começar a viver.”
“O que pretende fazer? Quer dizer, que vida é essa?”
Ela comprimiu os lábios e enrugou a testa. “Não sei. Eu me candidatei em alguns hospitais. E sempre há a clínica particular. Também posso voltar à faculdade. Ainda não pensei nisso.”
“Por causa da morte do sargento Foster?”
A moça tamborilou o dedo no estetoscópio, encarou-o, depois ficou olhando para a própria mão.
“Doutora Peters”, disse Brunetti sem saber ao certo se aquilo soava bem em inglês. “Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas sei que o sargento Foster não morreu num assalto, não foi vítima de nenhum ladrão. Ele foi assassinado, e quem o assassinou estava ligado aos militares americanos ou à polícia italiana. E tenho certeza de que a senhora sabe alguma coisa sobre o que causou esse crime. Eu quero que me conte o que sabe ou suspeita. Ou do que tem medo.” Suas palavras lhe pareceram torpes e artificiais.
Ao ouvi-las, a médica ergueu os olhos, e Brunetti detectou neles a sombra do que tinha visto na ilha de San Michele. Ela fez menção de dizer alguma coisa, conteve-se, tornou a olhar para o estetoscópio. Depois de um bom tempo, sacudiu a cabeça e disse: “Acho que o senhor está extrapolando, comissário. Eu não sei o que o senhor quer dizer quando afirma que eu estou com medo”. E prosseguiu, numa tentativa de convencer a ambos. “E não tenho a menor idéia de por que mataram Mike, não sei de ninguém que quisesse matá-lo.”
Ele olhou para a mão da médica e viu que ela havia dobrado de tal modo o tubo do estetoscópio que a borracha preta se acinzentara com a tensão. Percebendo a direção de seu olhar, a dra. Peters se deu conta do que estava fazendo e relaxou lentamente a pressão, até que o tubo voltasse a se endireitar e a borracha recuperasse a cor preta. “Agora, com licença, comissário, eu preciso atender outro paciente.”
“Claro, doutora”, concordou ele, percebendo que tinha perdido a parada. “Se a senhora se lembrar de alguma coisa que queira me contar ou se quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição na questura de Veneza.”
“Obrigada.” A médica se levantou e foi para a porta. “Quer terminar de ler o artigo?”
Brunetti também se levantou. “Não. Se lhe ocorrer alguma coisa, doutora, pode me procurar.”
A americana lhe apertou a mão, sorriu, mas não disse nada. Ele ficou observando quando ela foi pelo corredor, à esquerda, e entrou na sala ao lado, onde se ouvia uma voz de mulher falando baixinho, com doçura, provavelmente com uma criança doente.
Ao sair, encontrou o motorista entretido com uma revista enquanto esperava. Interrompeu a leitura ao ouvi-lo abrir a porta do carro. “Aonde, senhor?”
“O restaurante está aberto hoje?” Ele estava com muita fome, só agora se dava conta de que passava de uma da tarde.
“Sim, senhor. Já acabou a greve.”
“Quem estava em greve?”
“A cgl”, respondeu o motorista, mencionando a sigla do maior sindicato comunista da Itália.
“A cgl?”, repetiu Brunetti com assombro. “Numa base militar americana?”
“Isso mesmo, senhor. Depois da guerra, eles começaram a contratar todo mundo que falasse inglês e não deram importância aos sindicatos que estavam se formando. Mas, quando perceberam que a cgl era comunista, pararam de contratar quem fosse afiliado. Mas não puderam mandar embora os que já estavam contratados. A maioria deles trabalha no restaurante. A comida é boa.”
“Ótimo. Vamos para lá. É longe?”
“Oh, fica a uns dois minutos daqui”, disse o rapaz. E, dando a partida, fez outro balão abrupto e tomou o sentido contrário, numa rua que Brunetti tinha certeza de que era contramão.
Passaram por duas grandes estátuas, à esquerda, nas quais ele não tinha reparado. “Quem são esses aí?”, perguntou.
“O anjo com a espada eu não sei quem é, mas a outra é Santa Bárbara.”
“Santa Bárbara? O que ela está fazendo aqui?”
“É a padroeira da artilharia, senhor. Lembra? O pai dela foi atingido por um raio quando ia degolá-la.”
Embora fosse de família católica, Brunetti não se interessava muito por religião, achava complicado distinguir os diversos santos e acreditava que, até certo ponto, era como os pagãos, que deviam ter muita dificuldade para lembrar qual deus se encarregava do quê. Além disso, sempre teve a impressão de que os santos tinham mania de tirar as coisas do lugar: os olhos, os seios, os braços e agora, no caso de Santa Bárbara, a cabeça. “Eu não conheço a lenda. Como é?”
Sem dar a mínima para um sinal de parada obrigatória, o motorista virou uma esquina e, voltando-se para ele, explicou: “O pai dela era pagão, mas ela era cristã. O velho resolveu casá-la com um pagão, mas ela queria continuar virgem. Mocinha tonta”, acrescentou em voz baixa. Voltou a olhar para a frente e mal teve tempo de pisar no freio para não bater num caminhão. “Então, por castigo, o pai resolveu lhe cortar a cabeça. Ergueu a espada e lhe deu uma última chance de obedecer. Mas, nesse instante, bum! um raio caiu na espada e o matou.”
“E ela? O que aconteceu com ela?”
“Ah, essa parte da história eu não sei, nunca me contaram. Mas, enfim, por causa do raio e do trovão, ela ficou sendo a padroeira da artilharia.” O rapaz estacionou à entrada de outro edifício. “Chegamos, comissário. É estranho o senhor não saber a história de Santa Bárbara”, acrescentou.
“Não fui eu que investiguei esse caso”, disse Brunetti.
Depois do almoço, pediu ao motorista que o levasse uma vez mais ao apartamento de Foster. A mesma dupla de soldados estava no jipe em frente ao prédio. Vendo Brunetti se aproximar, os dois saíram e ficaram aguardando. “Boa tarde”, cumprimentou ele com um sorriso bem-humorado. “Eu queria dar mais uma olhada no apartamento, se possível.”
“O senhor conversou com o major Butterworth?”, perguntou o que tinha mais listras na divisa.
“Não, hoje não. Mas ele me autorizou ontem.”
“Por que o senhor quer ir lá novamente?”
“O meu caderno de anotações. Ontem eu estava anotando os títulos dos livros dele e devo tê-lo esquecido na estante. Não o encontrei quando embarquei, e este foi o último lugar em que estive.” Notou que o militar estava inclinado a recusar. “O senhor pode entrar comigo se quiser. Só quero ver se o caderno está lá. O apartamento em si não me interessa muito, mas as outras anotações que estão no caderno são importantes para mim.” Sentiu que estava falando demais.
Os militares se entreolharam, e, enfim, um deles, o que estava falando com Brunetti, pareceu ter concluído que não havia problema. Entregou o fuzil ao companheiro e disse: “Venha, senhor, eu o acompanho”.
Sorrindo agradecido, Brunetti o acompanhou à entrada do prédio e ao elevador. Nenhum dos dois falou durante a breve viagem ao terceiro andar nem quando o soldado abriu a porta, deu-lhe passagem, entrou atrás dele e a fechou.
Na sala, Brunetti foi diretamente para a estante de livros. Fingiu procurar o caderno de anotações, que trazia no bolso, chegando até a se agachar para olhar atrás da poltrona. “Esquisito. Eu tenho certeza de que estava com ele aqui.” Deslocou alguns livros e espiou atrás deles. Nada. Parou, como que tentando recordar em que outro lugar podia tê-lo deixado. “Eu fui tomar água na cozinha”, disse. “Pode ser que o tenha esquecido lá.” Deu a impressão de que algo acabava de lhe ocorrer. “Será que alguém entrou aqui e o achou?”
“Não. Ninguém esteve aqui depois do senhor.”
Brunetti abriu o mais doce dos sorrisos. “Bom, então ele tem de estar aqui.” Adiantando-se ao militar, foi para a cozinha e se aproximou da bancada junto à pia. Olhou ao redor, curvou-se para procurar debaixo da mesa, tornou a endireitar o corpo. Ao fazê-lo, colocou-se bem em frente ao aquecedor. Notou que haviam mexido nos parafusos da tampa, os quais, na véspera, ele tomara o cuidado de recolocar com as fendas em posição perfeitamente vertical ou horizontal: todos estavam ligeiramente diferentes. Portanto, alguém tinha verificado e descoberto que os embrulhos já não se achavam lá.
“Aqui parece que não está, senhor.”
“Não, acho que não”, concordou Brunetti, imprimindo à voz um tom realmente confuso. “Muito estranho. Tenho certeza de que estava comigo quando eu vim aqui.”
“Será que não caiu no carro?”, sugeriu o soldado.
Brunetti fez um ar surpreso. “O motorista o teria encontrado.”
“É melhor dar uma olhada no seu veículo, senhor.”
Ao sair do apartamento, o militar trancou a porta com cuidado. No elevador, Brunetti decidiu que seria coincidência demais achar o caderno escondido atrás do banco traseiro. Conseqüentemente, quando os dois saíram do prédio, agradeceu a ajuda ao americano e voltou para o carro.
Sem saber se ele chegaria a ouvi-lo àquela distância nem se entendia italiano, continuou representando seu papel e perguntou ao motorista se ele havia encontrado o caderno de anotações. Obviamente, a resposta foi não. Brunetti abriu a porta traseira, enfiou a mão por baixo do assento e apalpou o espaço vazio. Não chegou propriamente a se surpreender por não encontrar nada. Voltou a sair e, voltando-se para o jipe, abriu as mãos vazias. Um gesto mais do que significativo. Instalando-se no banco traseiro, pediu ao motorista que o levasse à estação.
12
O único trem que saía àquela hora era local e parava em todas as estações entre Vicenza e Veneza, mas, como o Intercity de Milão só ia passar dali a quarenta minutos, Brunetti optou por aquele mesmo, embora detestasse a viagem pinga-pinga, com a contínua troca de passageiros e as grandes levas de estudantes que, invariavelmente, embarcavam e desembarcavam em Pádua.
Havia encontrado um jornal em inglês abandonado na mesa do restaurante. Agora, tirando-o do bolso interno do paletó, começou a lê-lo. The Stars and Stripes, diziam as letras vermelhas do cabeçalho, aparentemente uma publicação dos militares norte-americanos na Europa. A primeira página trazia uma reportagem sobre um furacão que devastara um lugar chamado Biloxi, cidade que, em sua opinião, devia ficar em Bangladesh. Não, ficava nos Estados Unidos, mas como explicar o nome? Havia uma fotografia grande de casas e automóveis de cabeça para baixo, árvores arrancadas e tombadas umas sobre as outras. Virando a página, ficou sabendo que um pit bull decepara a mão de uma criança que estava dormindo em Detroit, cidade que, esta sim, ele tinha certeza de que ficava nos Estados Unidos. Mais uma foto. O secretário de Defesa garantia ao Congresso que todas as empresas que fraudaram o governo seriam devidamente processadas. Era notável a semelhança entre a retórica da política americana e a italiana. Sem dúvida, a natureza ilusória da promessa era a mesma nos dois países.
Havia três páginas de charges, nenhuma das quais tinha o menor sentido para ele, e cinco de noticiário esportivo com menos lógica ainda. Numa das charges um homem das cavernas brandia um porrete, e no caderno de esportes um sujeito de uniforme listrado fazia exatamente a mesma coisa. À parte isso, tudo era um mistério para Brunetti. A última página trazia a continuação do artigo sobre o furacão, mas o trem chegou à estação de Veneza e ele abandonou a leitura. Deixou o jornal no banco; talvez outra pessoa o aproveitasse mais.
Passava das sete quando desembarcou, mas o céu ainda estava claro. Isso acabaria naquele fim de semana, pensou, quando se atrasariam os relógios em uma hora e escureceria mais cedo. Ou será que era o contrário e o dia ficaria mais longo? Brunetti esperava que, todo ano, a maioria das pessoas demorasse tanto quanto ele para entender isso. Atravessou a ponte dos Scalzi e entrou no labirinto de ruelas que levavam ao apartamento. Mesmo àquela hora, cruzou com poucos transeuntes, pois quase todos iam de barco à estação ou ao terminal de ônibus da Piazzale Roma. Geralmente ficava de olho nas fachadas dos prédios, nas janelas altas, nas vielas, atento a qualquer coisa que porventura ainda não tivesse notado. Tal como boa parte dos seus conterrâneos, não se cansava de estudar a cidade, alegrando-se toda vez que topava com algo em que não havia reparado antes. Com o passar dos anos, criou um sistema que lhe permitia recompensar-se a cada descoberta: uma janela nova valia um café; a nova estátua de um santo, mesmo que pequena, rendia um copo de vinho; e uma vez, anos antes, achara numa parede, pela qual passava cinco vezes por semana desde a infância, uma inscrição em pedra marcando a sede da editora Aldine, a mais antiga da Itália, fundada no século xiv. Na ocasião, simplesmente virou a esquina, entrou no primeiro bar do Campo San Luca e pediu um Brandy Alexander, embora fossem dez horas da manhã e o garçom o tivesse servido com cara de poucos amigos.
Aquela noite, porém, as ruas não lhe chamaram a atenção; Brunetti continuava em Vicenza, de olho nas fendas dos quatro parafusos que seguravam a tampa do aquecedor de água do apartamento de Foster, todas um pouco deslocadas das meticulosas linhas retas em que ele as deixara no dia anterior, todas denunciando a mentira do soldado que afirmara que ninguém tinha entrado no apartamento. De modo que agora eles — fossem quem fossem — sabiam que o comissário de Veneza havia tirado a droga de lá e não dissera nada.
Brunetti entrou no prédio e foi abrir a caixa de cartas, e só então recordou que Paola devia ter chegado horas antes e decerto verificara a correspondência. Começou a subir; por sorte, o primeiro lance era curto e suave, um remanescente do palazzo original do século xv. No alto, a escada guinava para a esquerda e subia ao andar seguinte em dois lances abruptos. Lá o aguardava uma porta, a qual ele trancou depois de passar. Mais um lance, este perigoso e íngreme. A escada se dobrava em curvas sobre si mesma e, vinte e cinco degraus acima, deixava-o à porta do apartamento. Brunetti a abriu e finalmente entrou em casa.
Foi recepcionado pelo cheiro de comida, uma mescla de vários aromas. Aquela noite, distinguiu um leve cheiro de abóbora, o que significava que Paola estava preparando risotto con zucca, possível unicamente naquela estação do ano, quando a moranga barucca, verde-escura e achatada, chegava de Chioggia pela laguna. E o segundo prato? Paleta ou vitela? Assada com azeitonas e vinho branco?
Ele pendurou o paletó no armário, entrou no corredor e foi para a cozinha. O ar, mais quente que de costume, indicava que o forno estava aceso. Tirando a tampa da frigideira grande no fogão, viu os pedaços alaranjados de zucca fritando lentamente com cebola picada. Pegou um copo no armário perto da pia e tirou uma garrafa de Ribolla da geladeira. Serviu pouco mais que um gole, provou-o, esvaziou o copo, tornou a enchê-lo e guardou a garrafa. O calor da cozinha o envolveu. Ele afrouxou a gravata e voltou para o corredor. “Paola!”
“Eu estou aqui atrás”, foi a resposta.
Sem dizer nada, Brunetti entrou na longa sala de estar e foi para o terraço. Achava aquela a melhor hora do dia, pois lhe permitia ver o pôr-do-sol no oeste. Quando o ar estava límpido, chegava a avistar as Dolomitas pela pequena janela da cozinha, mas agora era tão tarde que elas deviam estar encobertas pela neblina e invisíveis. Ele se deixou ficar ali, os antebraços apoiados no parapeito, contemplando os telhados e as torres que nunca cessavam de encantá-lo. Ouviu Paola passar pelo corredor, voltando à cozinha, ouviu o ruído das panelas mas continuou onde estava, atento às badaladas das oito horas no campanário da San Polo e, a seguir, à ressonante resposta da San Marco, sempre alguns segundos depois, chegando do outro lado da cidade. Quando todos os sinos se calaram, Brunetti entrou e fechou a porta para a noite cada vez mais fria.
Na cozinha, Paola estava ao fogão, mexendo o risoto; às vezes suspendia a operação para acrescentar um pouco de caldo fervente. “Quer um vinho?”, perguntou ele. Sem interromper o trabalho, ela sacudiu a cabeça. Brunetti foi se servir de uma taça, mas, ao passar pela esposa, deteve-se para lhe beijar a nuca.
“Como foi em Vicenza?”, quis saber ela.
“Você devia perguntar como foi nos Estados Unidos.”
“Sim, eu sei. Aquilo é incrível, não?”
“Você já esteve lá?”
“Há muitos anos. Com os Alvise.” Vendo o olhar intrigado do marido, Paola explicou. “Foi quando o coronel estava em Pádua. Houve uma espécie de festa no clube dos oficiais, para militares italianos e americanos. Faz uns dez anos já.”
“Eu não me lembro.”
“Você não foi. Acho que estava em Nápoles na época. Continua tudo como antes?”
Brunetti sorriu. “Depende de como era.”
“Não venha com graça, Guido. Como é?”
“É um lugar limpíssimo, e todo mundo sorri muito.”
“Bom”, disse ela, voltando a mexer o risoto. “Então não mudou nada.”
“Eu não entendo por que eles sorriem tanto.” Brunetti havia notado a mesma coisa quando estivera nos Estados Unidos.
Paola deu meia-volta e o encarou. “Por que não, Guido? Pense um pouco. Os americanos são o povo mais rico do mundo. Todos os países têm de se submeter à política deles, e, de certo modo, eles estão convencidos de que tudo quanto fizeram, em sua história tão curta, serviu exclusivamente para aumentar o bem geral da humanidade. É claro que vivem sorrindo.” Voltou-se para a panela e praguejou ao ver que o arroz estava grudando no fundo. Verteu mais caldo e se pôs a mexer rapidamente.
“Será que isto aqui vai acabar virando uma reunião partidária?”, sorriu ele. Embora, em geral, os dois tivessem a mesma posição política, Brunetti sempre votava nos socialistas, ao passo que Paola era uma eleitora obstinada dos comunistas. Agora, porém, com o colapso do sistema e a dissolução do partido, às vezes ele arriscava jogar umas farpas.
Ela não se dignou a responder.
Brunetti pegou os pratos e começou a pôr a mesa. “E os meninos?”
“Saíram com os amigos. Sim”, acrescentou Paola antes que ele perguntasse, “os dois pediram autorização.” Apagou o fogo do risoto, acrescentou boa parte da manteiga que estava na bancada e mais um pratinho de Parmigiano Reggiano ralado. Mexeu até que ambos se dissolvessem no arroz, passou tudo para uma travessa e a colocou na mesa. Puxou a cadeira, sentou-se e, apontando a colher para ele, disse: “Mangia, ti fa bene”, uma ordem que sempre o alegrava.
Brunetti encheu o prato copiosamente. Tinha trabalhado muito, passara o dia num país estrangeiro, portanto, podia comer todo o risoto que quisesse. Começando pelo centro, traçou nítidos círculos concêntricos, empurrando o risoto para a borda do prato para que esfriasse mais depressa. Engoliu duas boas garfadas, suspirou de satisfação e continuou comendo.
Ao ver que ele havia ultrapassado o limite da fome e estava comendo unicamente por prazer, Paola disse: “Você ainda não me contou como foi a viagem aos Estados Unidos”.
Brunetti falou de boca cheia. “Confusa. Os americanos são muito cordiais e dizem que querem ajudar, mas ninguém parece saber de nada que me ajude.”
“E a médica?”
“A bonita?”, sorriu ele.
“É, Guido, a bonita.”
Vendo que não tinha agradado, Brunetti respondeu simplesmente: “Eu continuo achando que ela é a pessoa que sabe o que eu quero saber. Mas não conta. Daqui a seis meses, sai do exército, volta para os Estados Unidos e tudo isso será coisa do passado”.
“E eles tinham mesmo um caso?”, perguntou Paola, dando a entender que se recusava a acreditar que a médica não colaboraria se pudesse.
“Parece que sim.”
“Então eu duvido que essa moça simplesmente faça as malas e esqueça tudo.”
“Talvez seja uma coisa que ela não quer saber.”
“Por exemplo?”
“Nada. Quer dizer, nada que eu possa explicar.” Brunetti havia decidido não falar nos dois sacos plásticos que encontrara no apartamento de Foster; era uma coisa que ninguém devia saber. A não ser a pessoa que abrira o aquecedor, vira que os embrulhos tinham desaparecido e tornara a parafusar a tampa. Ele puxou a travessa de risoto para junto do prato. “Posso acabar com isso?”, perguntou, embora não fosse preciso ser detetive para saber a resposta.
“Coma. Eu não gosto de risoto requentado. Você também não.”
Enquanto Brunetti terminava de comer, Paola pegou a travessa e a levou para a pia. Ele juntou dois descansos de vime, na mesa, abrindo espaço para a fôrma que ela acabava de tirar do forno.
“O que você vai fazer?”
“Sei lá. Depende do que Patta fizer”, respondeu Brunetti, cortando uma fatia de carne e colocando-a no prato dela. Com um gesto, Paola indicou que não queria mais. Ele pôs dois pedaços grandes em seu prato, serviu-se de pão e começou a comer novamente.
“Que diferença faz o que Patta fizer?”
“Ah, santa inocência! Se ele tentar me afastar do caso, eu terei certeza de que alguém quer abafá-lo. E, como o nosso vice-questore só dá ouvidos às vozes que chegam de cima (quanto mais de cima, mais depressa ele reage), vou saber que a pessoa que quer encobrir o caso tem algum poder.”
“Quem seria essa pessoa?”
Ele pegou mais uma fatia de pão e a embebeu no molho do prato. “Isso eu sei tanto quanto você, mas acho muito desagradável pensar em quem pode ser.”
“Quem?”
“Não sei ao certo. Mas, se o exército americano estiver envolvido, com toda a certeza a questão é política, e isso significa o governo. O deles e o nosso.”
“Portanto, basta um telefonema para Patta?”
“Exatamente.”
“Portanto, você vai ter problemas?”
Brunetti não se deu ao trabalho de confirmar tamanha obviedade.
“E se Patta não tentar afastá-lo?”
Ele deu de ombros: pagava para ver.
Paola começou a tirar os pratos. “Sobremesa?”
Brunetti sacudiu a cabeça. “A que hora os meninos chegam?”
Ela respondeu da cozinha: “Chiara chega às nove. Eu mandei Raffaele estar em casa às dez”. A diferença no modo de se referir aos dois filhos dizia tudo.
“Você já conversou com os professores dele?”
“Não, ainda é cedo, o ano letivo mal começou.”
“Quando é a primeira reunião de pais e mestres?”
“Não sei. Não sei onde guardei a carta da escola. Acho que em outubro.”
“Como ele está?”, perguntou Brunetti, esperando que Paola se limitasse a responder, sem lhe perguntar o que ele queria dizer com aquilo, pois não sabia o que queria dizer.
“Não sei, Guido. Ele nunca me conta nada sobre a escola, nem sobre os amigos, nem sobre o que anda fazendo. Você também era assim nessa idade?”
Brunetti se imaginou aos dezesseis anos e tentou recordar como era. “Sei lá. Imagino que sim. Mas então eu descobri as garotas e nunca mais tive tempo de ficar revoltado nem perdido nem qualquer outra coisa. Só queria que elas gostassem de mim. Era a única coisa que me importava.”
“Havia muitas?”
Ele deu de ombros.
“E elas gostavam de você?”
Brunetti se limitou a sorrir.
“Ah, dê o fora daqui, Guido, invente alguma coisa para fazer. Vá ver televisão.”
“Eu detesto televisão.”
“Então me ajude com os pratos.”
“Eu adoro televisão.”
“Guido”, repetiu ela, não exasperada, mas como quem diz “levante-se e suma”.
Os dois ouviram o barulho da chave na fechadura. Era Chiara, abrindo ruidosamente a porta e jogando os livros num canto ao entrar. Foi até a cozinha, beijou os dois e, aproximando-se do pai, apoiou o braço em seu ombro. “Eu estou com fome, mamãe”, anunciou.
“A mãe de Luísa não deu comida para vocês?”
“Deu, mas isso foi há horas. Eu estou morrendo de fome.”
Brunetti a enlaçou e, puxando-a, sentou-a no colo. Com voz de policial durão, disse: “Muito bem, você está presa. Confesse. Onde escondeu a comida?”.
“Ah, papai, pare com isso”, gritou ela, retorcendo-se de prazer. “Eu comi tudo. Mas estou com fome de novo. Isso não acontece com você?”
“O seu pai espera pelo menos uma hora, Chiara.” Paola abrandou a voz. “Uma fruta? Um sanduíche?”
“As duas coisas?”, propôs a menina.
Quando Chiara terminou de comer o sanduíche enorme, recheado com muito presunto, tomate e maionese, e de devorar duas maçãs, estava na hora de todos irem para a cama. Às onze e meia, Raffaele ainda não tinha chegado, mas, durante a noite, Brunetti acordou e ouviu o ruído da porta e os passos do filho no corredor. Depois disso, dormiu profundamente.
13
Embora normalmente não fosse à questura aos sábados, naquela manhã Brunetti decidiu ir: mais para saber se havia alguma novidade do que por qualquer outro motivo. Sem fazer o menor esforço para chegar na hora, passou tranqüilamente pelo Campo San Luca e tomou um cappuccino no Rosa Salva, o bar que, segundo Paola, tinha o melhor café da cidade.
Seguiu rumo à questura numa trajetória paralela à San Marco, mas tratando de evitar a piazza. Ao chegar, subiu ao segundo andar, onde encontrou Rossi conversando com Riverre, um policial que ele pensava que estava de licença. Vendo-o entrar, Rossi lhe fez sinal para que se aproximasse da escrivaninha.
“Que bom que o senhor veio hoje. Temos novidade.”
“O quê?”
“Um assalto no Canale Grande. No palazzo grande que acaba de ser restaurado, perto de San Stae.”
“O que pertence ao milanês?”
“Sim, senhor. Ontem à noite, ao chegar em casa, ele topou com dois homens lá dentro, diz que talvez fossem três, mas não tem certeza.”
“Que aconteceu?”
“Vianello foi para o hospital conversar com ele. Eu só sei o que me contaram os homens que atenderam a ocorrência e o levaram ao hospital.”
“O que eles disseram?”
“O milanês tentou fugir, mas os caras o agarraram e lhe deram uma surra. Ele foi parar no hospital, mas não é nada grave. Está um pouco machucado.”
“E os três caras? Ou dois?”
“Sumiram. Os homens que atenderam a ocorrência voltaram ao palácio depois de levá-lo ao hospital. Parece que os ladrões fugiram com alguns quadros e com uma parte das jóias da mulher dele.”
“Alguma descrição dos assaltantes?”
“Ele não os viu direito, não tem muito que contar, só que um deles era bem alto, e parece que o outro tinha barba. Mas”, acrescentou Rossi com um sorriso, “havia uns turistas sentados na beira do canal, e viram três homens saindo do palazzo. Um deles com uma mala. Os garotos ainda estavam lá quando o nosso pessoal chegou e nos deram a descrição.” Fez uma pausa e tornou a sorrir, certo de que o comissário ia gostar da notícia. “Pelo jeito, um deles é Ruffolo.”
A reação de Brunetti foi imediata. “Mas ele não está preso?”
“Estava, senhor. Foi posto em liberdade há quinze dias.”
“Vocês mostraram a eles a fotografia dele?”
“Mostramos. E os garotos acham que o reconheceram. Por causa das orelhas de abano.”
“E o proprietário? Também viu a fotografia?”
“Ainda não, senhor. Eu acabo de conversar com esses meninos belgas. Para mim, foi Ruffolo mesmo.”
“E os outros dois caras? A descrição dos garotos coincide com a do milanês?”
“Bem, senhor, estava escuro, e eles não prestaram muita atenção.”
“Mas?”
“Mas têm certeza de que nenhum dos três era barbudo.”
Depois de refletir um instante, Brunetti disse a Rossi: “Leve a fotografia ao hospital e veja se o milanês o reconhece. Ele está em condições de falar?”.
“Oh, sim, senhor. Está bem. Alguns hematomas, um olho roxo, só isso. A casa está totalmente segurada.”
Por que um crime sempre parecia menos grave quando o local estava segurado?
“Se ele confirmar a identificação de Ruffolo, avise. Então eu vou à casa da mãe dele ver se descubro seu paradeiro.”
Rossi deixou escapar um grunhido ao ouvir isso.
“Eu sei, eu sei”, disse Brunetti. “Ela é capaz de mentir para o papa para salvar o seu lindo Peppino. Mas o que você queria? É o único filho dela. Além disso, eu bem que gostaria de rever aquela megera; acho que estive com ela só duas vezes desde que prendi Ruffolo.”
“Ela o atacou com uma tesoura, não?”, perguntou Rossi.
“Sim, mas não foi para valer. E Peppino a conteve.” Brunetti sorriu ao recordar aquele momento que, sem dúvida, fora um dos mais absurdos de sua carreira. “Além disso, era uma tesourinha de picotar.”
“Essa mulher é uma figura, a signora Concetta.”
“É mesmo. E mande alguém ficar de olho na namorada dele. Como ela se chama?”
“Ivana Não-sei-das-quantas.”
“Isso mesmo.”
“O senhor quer que a gente fale com ela?”
“Não, não adianta, ela vai dizer que não sabe de nada. Fale com o pessoal que mora no andar de baixo. Da última vez, foram eles que entregaram Ruffolo. Talvez nos deixem pôr alguém no apartamento até ele dar as caras. Peça a eles.”
“Sim, senhor.”
“Mais alguma coisa?”
“Não, nada.”
“Eu vou ficar mais ou menos uma hora no escritório. Avise quando voltar do hospital, caso tenha sido Ruffolo mesmo.” Brunetti ia sair, mas Rossi o chamou.
“Uma coisa: telefonaram para o senhor ontem.”
“Quem era?”
“Eu não sei. O telefonista disse que foi mais ou menos às onze da noite. Uma mulher. Estava à sua procura, mas não falava italiano, só um pouco. Disse mais alguma coisa, mas eu não lembro o quê.”
“Eu vou falar com ele.” Em vez de subir a escada, Brunetti foi para o fundo do corredor e entrou no cubículo do telefonista. Era um jovem recruta com cara de menino — não devia passar dos dezoito anos. Brunetti não conseguia lembrar como se chamava.
Ao vê-lo, o rapaz se levantou de um salto, puxando consigo o fio que ligava o fone de ouvido ao painel. “Bom dia, senhor.”
“Bom dia, sente-se, por favor.”
Sem ocultar o nervosismo, ele obedeceu, mas tomando o cuidado de se sentar na beira da cadeira.
“Rossi me contou que telefonaram para mim ontem à noite.”
“Sim, senhor”, disse o recruta, refreando o impulso de se levantar ao se dirigir ao superior.
“Foi você que atendeu?”
“Sim, senhor.” E, para evitar que Brunetti lhe perguntasse por que continuava no posto doze horas depois, ele se apressou a dar uma explicação. “Eu estava cobrindo o turno de Monico. Ele está doente.”
Indiferente aos detalhes, Brunetti perguntou: “O que ela queria?”.
“Conversar com o senhor. Mas quase não falava italiano.”
“Você lembra exatamente o que ela disse?”
“Sim, senhor”, respondeu o telefonista, mexendo nuns papéis na escrivaninha diante do painel. “Eu anotei.” Quando finalmente encontrou a folha que procurava, pôs-se a ler. “A moça queria falar com o senhor, mas não deu o nome nem nada. Eu perguntei, mas ela não quis se identificar, ou então não entendeu. Mesmo quando eu disse que o senhor não estava, tornou a pedir para falar com o senhor.”
“Falando inglês?”
“Acho que sim, mas ela só disse umas poucas palavras, e eu não consegui entender. Pedi que falasse italiano.”
“O que ela disse?”
“Disse alguma coisa parecida com ‘basta’, talvez tenha sido ‘pasta’ ou ‘posta’.”
“Mais alguma coisa?”
“Não, senhor. Só isso. Aí ela desligou.”
“Que impressão você teve pela voz dela?”
O recruta pensou um pouco antes de responder. “Não tive impressão nenhuma, senhor. Parece que ficou decepcionada porque o senhor não estava. Foi o que eu achei.”
“Tudo bem. Se ela telefonar de novo, transfira a ligação pra mim ou para Rossi. Ele fala inglês.”
“Sim, senhor”, disse o rapaz. Ao ver Brunetti dar meia-volta para sair, não pôde resistir à tentação e, levantando-se precipitadamente, bateu continência às suas costas.
Uma mulher que falava muito pouco italiano. “Molto poco”, ele recordou a médica dizendo. Também recordou algo que seu pai lhe ensinara certa vez, sobre a pesca, no tempo em que ainda era possível pescar na laguna: não convinha agitar a isca para não assustar o peixe. Portanto, era melhor esperar. A médica ainda ficaria seis meses na Itália, e ele não ia a lugar nenhum. Se ela não voltasse a ligar, segunda-feira ele telefonaria para o hospital, procurando-a.
E agora Ruffolo estava solto e em plena atividade. Ladrãozinho e arrombador pé-de-chinelo, tinha sido preso várias vezes, duas delas por Brunetti. Seus pais vieram de Nápoles, anos antes, trazendo o filho único e delinqüente. O pai morrera de tanto beber, mas não sem antes instilar no menino que os Ruffolo não tinham nascido para coisas desprezíveis como trabalhar, dedicar-se ao comércio ou mesmo estudar. Tal como o pai, Giuseppe nunca trabalhara, o único comércio que chegou a exercer foi o de objetos roubados e a única coisa que estudou foi a melhor maneira de arrombar uma porta ou de entrar numa casa. Se tinha retomado o ofício tão pouco tempo após ter sido posto em liberdade, tudo indicava que os dois anos de reclusão tinham servido para alguma coisa.
Mesmo assim, a verdade era que Brunetti gostava tanto da mãe quanto do filho. Peppino não dava mostras de atribuir a ele, pessoalmente, a responsabilidade por sua prisão, e a signora Concetta, uma vez superado o incidente com a tesoura de picotar, ficara muito agradecida quando Brunetti depusera, no julgamento de Ruffolo, afirmando que ele evitava o uso da força ou a ameaça de violência ao cometer seus crimes. Era provável que esse depoimento tivesse contribuído muito para reduzir a pena a só dois anos de reclusão.
Não seria preciso mandar tirar do arquivo a ficha de Giuseppe Ruffolo. Cedo ou tarde, ele acabaria aparecendo no apartamento da mãe ou no de Ivana e não tardaria a voltar à prisão, onde continuaria se aperfeiçoando no crime e confirmando sua triste sina.
Assim que entrou no escritório, Brunetti se pôs a procurar o laudo da autópsia do jovem norte-americano. Quando estavam conversando, Rizzardi não mencionara a presença de drogas no sangue, e ele não fizera essa pergunta específica por ocasião da autópsia. Achou o laudo na escrivaninha, abriu-o e começou a folheá-lo. Tal como o médico-legista advertira, a linguagem era impenetrável. Na segunda página, encontrou o que talvez fosse a resposta, mas era difícil ter certeza em meio a tão longos termos latinos e a uma sintaxe tão maluca. Depois de lê-lo três vezes, Brunetti ficou razoavelmente seguro de que o trecho dizia que não havia nenhum vestígio de entorpecentes no sangue do rapaz. Aliás, seria uma surpresa se o laudo dissesse o contrário.
O telefone tocou: ligação interna. Ele atendeu prontamente: “Sim, senhor”.
Patta não perdeu tempo perguntando como ele sabia quem era, sinal claro de que o telefonema era importante. “Eu quero falar com você, comissário.” O uso do título, em vez do nome, enfatizava a importância da chamada.
Brunetti disse que desceria imediatamente. Patta era um homem de estados de espírito restritos, cada um deles claramente perceptível, e aquele precisava ser decifrado com muito cuidado.
Ao entrar no gabinete, Brunetti encontrou o vice-questore sentado à escrivaninha vazia, as mãos entrelaçadas à sua frente. Não fazia o menor esforço para parecer diligente, mesmo que fosse à custa de apenas uma pasta vazia na mesa. Naquele dia não havia nada lá, apenas um rosto sério ou quase solene e as mãos unidas no tampo da mesa. Patta exalava um cheiro forte de colônia unissex, e sua cara parecia ter sido untada em vez de barbeada. Brunetti se aproximou e parou à frente do chefe, perguntando-se quanto tempo ele ficaria em silêncio, técnica a que recorria quando queria realçar a importância do que ia dizer.
Transcorreu pelo menos um minuto até que o vice-questore se dispusesse a abrir a boca: “Sente-se, comissário”. A insistência no uso do título denunciou a Brunetti que o que ele estava por ouvir era desagradável e que Patta sabia disso.
“Eu quero conversar com você sobre o assalto”, disse, sem preâmbulo, assim que Brunetti se sentou.
Este desconfiou que ele não estava se referindo ao crime mais recente, cometido no Canale Grande, muito embora a vítima fosse um industrial de Milão. Normalmente, um figurão assaltado era mais do que suficiente para levá-lo a simular uma diligência quase excessiva.
“Pois não, senhor.”
“Eu soube que você esteve em Vicenza outra vez.”
“Sim, senhor.”
“Era necessário? Você não tem o que fazer aqui em Veneza?”
Brunetti respirou fundo, compreendendo que, apesar da conversa anterior, teria de explicar tudo novamente. “Eu queria falar com algumas pessoas que conheciam a vítima.”
“Você não fez isso no primeiro dia em que esteve lá?”
“Não, senhor. Não deu tempo.”
“Não foi o que você disse na tarde em que voltou de lá.” Ante o silêncio de Brunetti, Patta prosseguiu. “Por que não fez isso no primeiro dia?”
“Porque não deu tempo, senhor.”
“Você chegou aqui às seis horas. Teve muito tempo para fazer tudo que devia ser feito.”
Foi à custa de muito esforço que Brunetti ocultou o assombro pelo fato de o vice-questore se lembrar de um detalhe tão ínfimo como a hora em que ele havia chegado de Vicenza. Justamente aquele homem que era incapaz de lembrar o nome de mais do que dois ou três policiais fardados.
“Não deu, senhor.”
“Que você fez na segunda viagem?”
“Falei com a superior de Foster e com um homem que trabalhava com ele.”
“E o que descobriu?”
“Nada de importante, senhor.”
Patta o encarou. “Como assim?”
“Eu não descobri por que queriam matá-lo.”
O vice-questore ergueu as mãos e deixou escapar um prolongado suspiro de exasperação. “Pois a questão é justamente essa, meu caro Brunetti. Você não descobriu simplesmente porque ninguém queria matá-lo. E, convém acrescentar, é por isso que não vai descobrir nada. Porque ninguém queria matá-lo. Ele morreu num assalto, e a prova é o fato de sua carteira ter desaparecido.” Um dos tênis do americano também havia desaparecido. Isso significava que o mataram por causa de um pé de Reebok número 43?
O vice-questore abriu a primeira gaveta e pegou algumas folhas de papel. “Eu acho esse seu passeio em Vicenza foi uma grande perda de tempo, comissário. Não quero que você fique incomodando os americanos com essa história. O crime foi aqui, e o criminoso vai ser encontrado aqui.” Falou em tom firme e definitivo. Pegou um dos papéis e fingiu lê-lo. “Eu quero que você empregue melhor o seu tempo daqui por diante.”
“E como eu devo fazer isso, senhor?”
Patta o encarou e voltou a olhar para o papel. “Você fica encarregado de investigar o assalto no Canale Grande.” Brunetti tinha certeza de que o lugar desse crime, assim como o status e a fortuna da vítima, era suficiente para que Patta o considerasse muito mais importante, em termos reais, do que um mero assassinato, principalmente porque a vítima nem era oficial.
“E o caso do americano?”
“Nós vamos nos limitar ao procedimento normal. Vamos ver se um dos nossos marginais dá com a língua nos dentes ou se, de repente, começa a gastar mais dinheiro do que devia ter.”
“E se isso não acontecer?”
“Os americanos também estão investigando”, disse Patta, disposto a encerrar o assunto.
“Desculpe, senhor, mas como os americanos podem investigar uma coisa aqui em Veneza?”
Patta semicerrou as pálpebras. “Eles têm meios, comissário. Eles têm meios.”
Brunetti duvidava disso, mas também duvidava de que esses meios tivessem necessariamente o propósito de encontrar o assassino. “Eu prefiro continuar com a investigação, senhor. Duvido que tenha sido apenas um assalto.”
“Eu decidi que foi, comissário, e é assim que nós vamos tratar o caso.”
“Que significa isso, senhor?”
O vice-questore tentou se mostrar admirado. “Significa, comissário, e eu quero que você preste muita atenção, significa exatamente o que eu disse, que nós vamos tratar esse caso como latrocínio: homicídio com objetivo de roubo.”
“Oficialmente?”
“Oficialmente”, repetiu Patta com muita ênfase, “e extra-oficialmente.”
Brunetti não teve necessidade de perguntar o que aquilo significava.
Benevolente em seu triunfo, o vice-questore acrescentou: “É claro que os americanos ficarão gratos pelo seu interesse e entusiasmo”. Brunetti achou que teria mais sentido ficarem gratos pelo seu sucesso, mas não era uma opinião que ele podia manifestar agora que Patta estava sumamente quixotesco e precisava ser tratado com o máximo de cautela.
“Lamento, mas ainda não estou convencido, senhor”, disse, imprimindo à voz o conflito entre a dúvida e a resignação. “Mas imagino que seja possível. Afinal, eu não descobri nada que sugira outra coisa.” À parte as centenas de milhões de liras em cocaína.
“Ainda bem que você vê as coisas assim, Brunetti. Acho que isso mostra que está encarando a atividade da polícia com mais realismo.” Patta voltou a consultar os papéis na escrivaninha. “Eles tinham um Guardi.”
Incapaz de acompanhar a súbita mudança de assunto, Brunetti foi obrigado a perguntar: “O quê?”.
“Um Guardi, comissário. Francesco Guardi. Imagino que você pelo menos já tenha ouvido falar: um dos pintores venezianos mais famosos.”
“Ah, desculpe, senhor. Pensei que fosse um personagem da televisão alemã.”
O vice-questore disse um “não” grave e reprovador antes de examinar os outros papéis na secretária. “Esta é a lista do signor Viscardi. Um Guardi, um Monet e um Gauguin.”
“Esse senhor Viscardi ainda está no hospital?”
“Está, acho que está. Por quê?”
“Ele sabe exatamente que quadros foram roubados, mas não viu os homens que os levaram.”
“O que você está insinuando?”
“Nada”, respondeu Brunetti, “eu não estou insinuando nada. Vai ver que ele só tinha esses três quadros.” Mas, se Viscardi possuísse apenas três quadros, o caso não teria subido tão rapidamente ao topo da lista de prioridades de Patta. “Se me permite uma pergunta, o que esse signor Viscardi faz em Milão?”
“Dirige algumas fábricas.”
“Dirige ou é dono?”
O vice-questore não tentou dissimular a irritação. “Ele é um cidadão importante e gastou uma fortuna para restaurar aquele palazzo. É um verdadeiro bem para esta cidade, e eu acho que o mínimo que nós devemos fazer é cuidar para que ele fique em segurança quando estiver aqui.”
“Assim como as propriedades dele”, acrescentou Brunetti.
“É, assim como as propriedades dele.” Patta repetiu as palavras, mas não o tom sarcástico. “Eu quero que você se encarregue da investigação, comissário, e espero que o signor Viscardi seja tratado com o máximo respeito.”
“Sem dúvida.” Brunetti se levantou para sair. “O senhor sabe que tipo de fábrica ele dirige?”
“Eu creio que fabrica armas.”
“Obrigado, senhor.”
“E pare de incomodar os americanos, comissário. Está claro?”
“Sim, senhor.” Sem dúvida, estava claríssimo, mas o motivo, nem tanto.
“Ótimo, então mãos à obra. Eu quero isso resolvido o mais depressa possível.”
Brunetti sorriu e saiu do gabinete, curioso para saber quem tinha mexido os pauzinhos e por quê. No caso de Viscardi, era fácil imaginar: indústria de armamento, dinheiro de sobra para restaurar um palazzo no Canale Grande — cada frase proferida por Patta recendia a dinheiro e poder. Já no caso do americano, era mais difícil rastrear a proveniência dos odores, mas essa dificuldade não os tornava menos tangíveis que os outros. No entanto, era evidente que haviam orientado Patta: a morte do americano devia ser tratada como um assalto que acabou mal, apenas isso. Mas quem lhe havia dado essa orientação?
Em vez de subir à sua sala, Brunetti desceu ao escritório central. Vianello retornara do hospital e estava à escrivaninha, muito à vontade na cadeira, telefonando. Ao vê-lo entrar, interrompeu a conversa e desligou.
“Pois não, senhor?”
Brunetti se encostou na lateral da escrivaninha. “Como estava esse tal Viscardi quando você falou como ele?”
“Irritado. Passou a noite inteira numa enfermaria, tinha acabado de conseguir ser transferido para um quarto particular e...”
Brunetti o interrompeu: “Como ele conseguiu?”.
Vianello deu de ombros. O Casinò não era a única instituição pública da cidade em cuja fachada figuravam as palavras “Non Nobis”. Na dos hospitais, embora só visíveis para os ricos, elas não eram menos reais. “Imagino que ele conhece alguém lá dentro, deve ter falado com a pessoa certa. Gente como ele sempre faz isso.” Pelo tom de voz de Vianello, Viscardi não tinha feito nenhuma proeza.
“Como ele é?”
Vianello sorriu, depois fez uma careta. “O senhor sabe. Milanês típico. Incapaz de pronunciar um ‘r’”, disse, suprimindo todos os “r” da frase, numa imitação perfeita daquela afetação tão milanesa no falar, muito comum entre os políticos mais arriviste e os comediantes dedicados a zombar deles. “A primeira coisa que fez foi me dizer como os quadros são importantes, o que significa, imagino, o quanto ele mesmo é importante. Depois se queixou de ter passado a noite numa enfermaria. Acho que ficou com medo de pegar uma doença proletária.”
“Ele descreveu os ladrões?”
“Disse que um deles era muito alto, mais do que eu.” Vianello era um dos homens mais altos da polícia. “E que o outro tinha barba.”
“Quantos eram, dois ou três?”
“Ele não sabe ao certo. Foi agarrado ao entrar em casa e ficou tão surpreso que não viu ou não se lembra.”
“Está muito machucado?”
“Não a ponto de precisar de um quarto particular”, disse Vianello sem disfarçar a desaprovação.
Brunetti sorriu. “Você pode ser um pouco mais específico?”
O outro não o levou a mal. “Está com um olho roxo. Coisa que vai piorar hoje. Levou uma boa porrada. E com um corte no lábio, alguns hematomas nos braços.”
“Só isso?”
“Sim, senhor.”
“Tem razão; não chega a ser o tipo de coisa que exija um quarto particular. Nem mesmo um hospital.”
Vianello reagiu de pronto ao tom de voz de Brunetti. “O senhor está pensando o que eu estou pensando?”
“O vice-questore Patta já sabe quais são os quadros desaparecidos. A que hora deram parte do roubo?”
“Pouco depois de meia-noite, senhor.”
Brunetti consultou o relógio. “Doze horas. Os quadros são de Guardi, de Monet e de Gauguin.”
“Desculpe, senhor, eu não entendo de pintura. Mas esses nomes significam dinheiro?”
Brunetti respondeu com um gesto muito afirmativo. “Rossi me contou que a casa está segurada. Como ele ficou sabendo disso?”
“O agente da companhia de seguros telefonou, por volta das dez, perguntando se podia ir dar uma olhada no palazzo.”
Vianello pegou um maço de cigarros, na escrivaninha, e acendeu um. “Rossi me disse que os turistas belgas acham que um deles era Ruffolo.” Brunetti fez que sim. “Acontece que Ruffolo é baixo, não é, senhor? Um tampinha.” O policial expeliu a fumaça e a dispersou com a mão.
“E com certeza não deixou crescer a barba quando estava preso”, observou Brunetti.
“Quer dizer que nenhum dos homens que Viscardi diz ter visto podia ser Ruffolo, não é, senhor?”
“É o que tudo indica. Eu mandei Rossi ao hospital ver se Viscardi reconhece Ruffolo pelo retrato.”
“Duvido que reconheça”, observou Vianello laconicamente.
Brunetti se afastou da escrivaninha. “Acho que eu vou dar uns telefonemas. Com licença.”
“Claro, senhor”, disse o policial. “Zero dois”, acrescentou, dando-lhe o prefixo de Milão.
14
De volta ao escritório, Brunetti tirou da gaveta um caderno de espiral e começou a folheá-lo. Fazia anos que se prometia um dia pegar os nomes e números lá anotados e dispô-los numa ordem qualquer. Renovava esse propósito toda vez que, como agora, era obrigado a examiná-lo de ponta a ponta à procura de um número que não discava havia meses ou anos. Aliás, folheá-lo era mais ou menos como visitar um museu repleto de quadros conhecidos, cada qual a lhe despertar uma lembrança antes que ele prosseguisse na busca do que queria. Por fim encontrou o número do telefone residencial de Riccardo Fosco, o editor da seção de economia de uma das mais importantes revistas semanais.
Anos antes, Fosco tinha sido o grande farol da mídia informativa, aquele que desenterrava escândalos financeiros nos lugares mais inesperados, tendo sido um dos primeiros a suspeitar do Banco Ambrosiano. Seu escritório era o centro de uma rede de informações sobre a verdadeira natureza dos negócios na Itália; sua coluna, o lugar onde procurar os primeiros indícios de que havia algo errado com esta ou aquela empresa: uma fusão agressiva ou uma aquisição fraudulenta. Dois anos antes, num fim de tarde em que ele estava saindo do escritório para tomar um aperitivo com os amigos, um sujeito, num carro estacionado, tivera o cuidado de apontar a metralhadora para seus joelhos e esmigalhá-los. Agora o escritório de Fosco ficava em casa, e andar era uma coisa que ele só podia fazer com a ajuda de um par de bengalas; um dos joelhos perdera definitivamente a mobilidade, o outro não flexionava mais do que trinta graus. Ninguém fora preso pelo crime.
Ele atendeu à sua maneira habitual: “Fosco”.
“Ciao, Riccardo. Aqui é Guido Brunetti.”
“Ciao, Guido. Quanto tempo! Não me diga que ainda está tentando descobrir aonde foi parar o dinheiro que ia salvar Veneza?”
Era uma eterna brincadeira entre eles, a facilidade com que os milhões de dólares — nunca se soube exatamente quantos — arrecadados pela Unesco para “salvar” Veneza tinham desaparecido nos gabinetes e nos bolsos dos “realizadores” que se precipitaram a apresentar planos e programas quando da devastadora enchente de 1966. Surgiu uma fundação com uma equipe de trabalho completa e um arquivo atulhado de projetos, realizaram-se festas e bailes para angariar fundos, mas ninguém viu nem sombra do dinheiro, e as águas, desobstruídas, continuaram fazendo o que bem entendiam com a cidade. Essa história, cujos meandros enveredavam pela onu, pelo Mercado Comum e por vários governos e instituições financeiras, mostrou-se demasiado complicada até mesmo para Fosco, que nunca escreveu a esse respeito, temendo que os leitores o acusassem de ter se voltado para a ficção. Brunetti, por sua vez, partia do princípio de que, como quase todas as pessoas envolvidas nos projetos eram venezianas, o dinheiro tinha sido, de fato, empregado na salvação da cidade, mas não da maneira que se pretendia no começo.
“Não, Riccardo, é outra coisa. Eu estou querendo saber de um dos seus, um milanês chamado Viscardi. Nem sei o primeiro nome dele, mas é um cara da indústria bélica, gastou uma fortuna na restauração de um palazzo aqui.”
“Augusto”, disse Fosco instantaneamente. E fez questão de dar o nome completo. “Augusto Viscardi.”
“Que rapidez!”
“Ah, sim. Eu vivo ouvindo falar no signor Viscardi.”
“E o que dizem?”
“As fábricas de munição em Monza. São quatro. Dizem que ele tem contratos milionários com o Iraque, aliás, com vários países do Oriente Médio. Conseguiu manter o fornecimento mesmo durante a guerra, parece que pelo Iêmen.” Fosco se calou um momento antes de continuar. “Mas também ouvi dizer que ele teve problemas durante a guerra.”
“Como assim?”
“Bom, não chegou a ficar na rua da amargura, pelo menos é o que dizem. Não precisou fechar nenhuma fábrica durante a guerra, e não foi só isso. Pelo que me consta, a região continuou produzindo a todo o vapor. Não falta quem queira comprar o que ele fabrica.”
“Mas qual foi o problema, então?”
“Eu não sei bem. Teria de fazer algumas consultas. Mas, segundo os boatos, Viscardi teve um prejuízo enorme. A maioria deles exige que o pagamento seja feito num lugar seguro, como o Panamá ou Liechtenstein, antes da remessa do material, mas fazia tanto tempo que ele negociava com essa gente — aliás, parece que esteve lá algumas vezes, conversando com os chefões — que não exigiu o pagamento antecipado, estava certo de que ia ser tratado como um parceiro especial.”
“E não foi?”
“Não. Grande parte do material foi para o espaço antes de ser entregue. Parece que os piratas no Golfo roubaram toda a carga de um navio. Deixe-me dar uns telefonemas, Guido. Eu volto a ligar daqui a uma hora.”
“Ele tem algum problema pessoal?”
“Que eu saiba, não, mas posso averiguar.”
“Obrigado, Riccardo.”
“Você pode me contar do que se trata?”
Brunetti não tinha por que omitir nada. “Assaltaram a casa de Viscardi ontem à noite, e ele chegou justamente quando os ladrões estavam lá. Embora não tenha conseguido identificar os três homens, sabia direitinho que quadros foram roubados.”
“É bem o estilo dele.”
“O cara é tão burro assim?”
“Não, de burro ele não tem nada. Mas é arrogante e gosta de se arriscar. Foi graças a essas duas qualidades que fez fortuna.” A voz de Fosco mudou. “Desculpe, Guido, eu estou com uma ligação na outra linha. Telefono mais tarde, está bem?”
“Obrigado, Riccardo”, repetiu Brunetti. “Obrigado mesmo”, acrescentou. Mas Fosco já tinha desligado.
Brunetti sabia que o segredo do sucesso da polícia não dependia das deduções brilhantes nem da manipulação psicológica dos suspeitos, mas sim do mero fato de os seres humanos tenderem a supor que seu próprio nível de inteligência era a norma, o padrão, e a agir de acordo com tal suposição. Por isso, os bobos não tardavam a ser capturados, pois a idéia que tinham da esperteza era tão lamentavelmente precária que os transformava numa presa óbvia. Em compensação, essa mesma regra dificultava muito o trabalho quando ele topava com criminosos inteligentes e corajosos.
Nos sessenta minutos seguintes, Brunetti ligou para Vianello e pegou o nome do agente de seguros que pedira autorização para inspecionar o local do crime. Uma vez contatado, o homem garantiu que todos os quadros eram autênticos e tinham desaparecido no assalto. Disse que as cópias dos documentos de autenticidade estavam ali, à sua frente. O valor das três obras de arte? Bem, estavam seguradas por um total de cinco bilhões de liras, mas era possível que seu verdadeiro valor de mercado tivesse subido no ano anterior, em virtude do aumento dos preços dos impressionistas. Não, não houvera nenhum roubo antes disso. Também tinham levado algumas jóias, mas não valiam quase nada em comparação com os quadros: algumas centenas de milhões de liras. Ah, que lindo o mundo em que se considerava que algumas centenas de milhões de liras não valiam quase nada.
Brunetti acabava de conversar com o agente de seguros quando Rossi chegou do hospital, contando que o signor Viscardi se surpreendera muito ao ver a fotografia de Ruffolo. Mas, superando prontamente essa emoção, dissera que a fotografia não tinha nenhuma semelhança com os homens que invadiram sua casa, sendo que agora, pensando bem, ele insistia que eram só dois.
“O que você acha?”
Rossi respondeu sem o menor vestígio de incerteza na voz: “É mentira. Não sei se esse cara está mentindo sobre as outras coisas, mas é mentira que não conhece Ruffolo. Se eu lhe mostrasse o retrato de sua mãe, ele não ficaria tão surpreso quanto ficou”.
“Pelo jeito, eu vou ter de ir bater um papo com a mãe de Ruffolo.”
“Quer que eu vá buscar um colete à prova de bala?”, debochou Rossi.
“Não, agora a viúva Ruffolo é minha amiga. Quando eu depus a favor de Peppino no tribunal, ela resolveu me perdoar e esquecer. Até sorri quando me encontra na rua.” Brunetti preferiu não contar que tinha ido visitá-la algumas vezes nos últimos dois anos, aparentemente a única pessoa na cidade que o fizera.
“Sorte sua. E ela fala com o senhor?”
“Claro que fala.”
“Em siciliano?”
“Duvido que ela saiba outra língua.”
“E o senhor entende?”
“Mais ou menos a metade do que ela diz”, respondeu Brunetti, “mas só quando fala muito devagar”, acrescentou a bem da verdade. Embora não se pudesse dizer que a signora Ruffolo se havia adaptado à vida em Veneza, à sua maneira ela passara a fazer parte da lenda policial da cidade, uma mulher capaz de agredir um comissário para proteger o filho.
Pouco depois que Rossi se retirou, Fosco telefonou. “Guido, eu conversei com algumas pessoas. O que dizem é que ele perdeu uma fortuna nesse negócio do Golfo. Sumiram com um navio inteiro, e ninguém sabe que carga levava. Parece que foi desviado por piratas mesmo. Como o boicote estava em vigor, Viscardi não foi reembolsado pelo seguro.”
“Então ele perdeu muito dinheiro?”
“Muito.”
“Tem idéia de quanto?”
“Ninguém sabe ao certo. As estimativas oscilam entre cinco e quinze bilhões, mas ninguém foi capaz de me dar uma importância exata. Em todo caso, dizem que ele conseguiu segurar a coisa durante algum tempo, mas agora está com sérios problemas de fluxo de caixa. Um amigo meu, do Corriere, acha que Viscardi só não está morrendo de preocupação porque tem uma espécie de contrato com o governo. E possui holdings no exterior. O meu contato não sabe em que países. Quer que eu tente descobrir mais alguma coisa?”
Para Brunetti, o signor Viscardi estava começando a se parecer muito com os homens de negócios da geração emergente, que substituíam o trabalho pela ousadia e a honestidade pelo tráfico de influência. “Não, acho que não, Riccardo. Eu só queria saber se esse sujeito é capaz de tentar uma coisa dessas.”
“E?”
“Bom, a julgar pela situação em que está, é bem possível que fique com vontade de tentar, não?”
Fosco deu mais algumas informações: “Pelo que dizem, ele é muito bem relacionado, mas a pessoa que me contou não soube dizer com quem. Quer que eu indague um pouco mais?”.
“Será que é com a máfia?”, perguntou Brunetti.
“Parece que sim.” Fosco riu com resignação. “Mas quando não parece? Só que também parece que ele tem conexões com o governo.”
Brunetti resistiu à tentação de repetir o comentário do amigo: “mas quando não parece?”; em vez disso, perguntou: “E a vida pessoal dele?”.
“Tem mulher e filhos aqui. Ela é uma espécie de padroeira dos Cavaleiros de Malta: você sabe, bailes beneficentes e visitas a hospitais. E uma amante em Verona. Aí perto de você.”
“Você disse que ele é arrogante.”
“É verdade. Há quem diga que é até mais do que isso.”
“Como assim?”, quis saber Brunetti.
“Duas pessoas me disseram que ele chega a ser perigoso.”
“Pessoalmente?”
“Se ele é capaz de puxar uma faca?”, perguntou Fosco, rindo.
“Mais ou menos.”
“Não, não foi essa a impressão que eu tive. Pessoalmente, não. Mas ele gosta de se arriscar; pelo menos é a reputação que tem aqui. E, como eu disse, é um homem muito bem protegido e não hesita em pedir socorro aos amigos.” O jornalista fez uma breve pausa antes de prosseguir. “Uma das pessoas com quem eu falei foi mais direta ainda, mas não pôde me contar nada preciso. Só disse que quem tiver alguma coisa a ver com Viscardi precisa tomar muito cuidado.”
Brunetti decidiu não levar isso muito a sério. “Eu não tenho medo de faca.”
A reação do outro foi imediata: “Eu também não tinha medo de metralhadora”. Mas logo se arrependeu da observação. “É sério, Guido, tome cuidado com esse sujeito.”
“Está bem, vou tomar. Obrigado. Eu ainda não descobri nada sobre o seu caso, mas, se descobrir, aviso.” Quase todos os policiais que conheciam Fosco juravam que queriam descobrir quem havia atirado nele e quem era o mandante, mas o autor do atentado fora extremamente cauteloso, pois sabia que ele era benquisto na polícia. De modo que não se descobriu absolutamente nada. Por mais que achasse inútil, Brunetti continuava indagando sempre que surgia uma oportunidade, cutucava aqui ou ali, falava vagamente com um ou outro suspeito sobre a possibilidade de negociar em troca da informação que ele queria. Mas não havia chegado a conclusão nenhuma.
“Obrigado, Guido. Mas não sei se isso ainda vale a pena.” Tratava-se de sabedoria ou de resignação?
“Por quê?”
“Eu vou me casar.” Amor? Tanto melhor.
“Parabéns, Riccardo. Com quem?”
“Você não a conhece. Ela trabalha na revista, mas faz só um ano que está aqui.”
“Quando é a festa?”
“No mês que vem.”
Brunetti não fez a falsa promessa de comparecer, mas disse de todo o coração: “Eu lhes desejo muita felicidade, Riccardo”.
“Obrigado, Guido. Olhe, se souber mais alguma coisa sobre esse cara, eu telefono, está bem?”
“Eu fico agradecido.” Reiterando os votos de felicidade, Brunetti se despediu e desligou. Seria só isso? Acaso o prejuízo nos negócios levara Viscardi a organizar uma coisa tão grosseira como a simulação de um assalto? Só um forasteiro em Veneza escolheria Ruffolo, um garoto muito mais apto para ver o sol nascer quadrado do que para ser criminoso. Mas talvez o fato de ele ter sido posto em liberdade tão recentemente tivesse servido de recomendação.
Por ora, já não havia o que fazer na questura, mesmo porque Patta seria o primeiro a se indignar com o abuso de autoridade caso um milionário fosse interrogado por três policiais diferentes no mesmo dia, sobretudo se o interrogassem ainda no hospital. Não tinha sentido ir a Vicenza num dia em que os escritórios norte-americanos estariam fechados, se bem que nas horas de folga fosse muito mais fácil desobedecer à ordem do vice-questore. Não, era melhor esperar que a médica mordesse a isca na semana seguinte: então seria fácil dar mais um puxão na linha. Naquele sábado, ele ia jogar o anzol em águas venezianas, ia atrás de outra presa.
A signora Concetta Ruffolo morava com Giuseppe — nos breves períodos que ele passava fora da prisão — num apartamento de dois cômodos, nas imediações do Campo San Boldo, uma zona caracterizada pela proximidade da torre partida dessa igreja, pela ausência de uma parada decente de vaporetto e, se se ampliasse a definição da palavra “proximidade”, pela vizinhança da igreja de San Simone Piccolo, onde, em franco protesto contra conceitos como modernidade ou adequação, a missa continuava sendo rezada em latim. A viúva morava num apartamento de propriedade de uma fundação pública, a ire, que alugava uma infinidade de imóveis a pessoas consideradas carentes a ponto de merecê-los. Normalmente, os contemplados eram venezianos; como a signora Ruffolo havia conseguido o dela era um mistério insolúvel, embora não houvesse nenhum mistério quanto à realidade da sua carência.
Brunetti atravessou a ponte de Rialto, passou por San Cassiano, dobrou à esquerda e não tardou a avistar a atarracada torre de San Boldo, à direita. Entrou numa calle estreita e parou em frente a um prédio baixo. O nome “Ruffolo” estava gravado em delicadas letras numa placa de metal à direita da campainha; dela descia um escorrimento de ferrugem, manchando o reboque da fachada do prédio, que se ia desprendendo lentamente. Ele tocou a campainha, aguardou um momento, tornou a tocar, esperou e tocou pela terceira vez.
Dois minutos depois, ouviu uma voz perguntar lá de dentro: “Si, chi è?”.
“Sou eu, signora Concetta. Brunetti.”
A porta se abriu rapidamente. Ao olhar para o hall escuro, ele teve a impressão de que estava diante de um barril, não de uma mulher. Segundo a história da família, quarenta anos antes, a signora Concetta era a moça mais linda de Caltanisetta. Diziam que os rapazes passavam horas subindo e descendo o Corso Vittorio Emmanuele na esperança de ver, ainda que de relance, a belíssima Concetta. Ela podia ter escolhido qualquer um, do primogênito do prefeito ao irmão caçula do médico, mas preferiu o terceiro filho de uma família que outrora governara a província com mão de ferro. Tornou-se Ruffolo pelo casamento e, quando as dívidas de Annuziato os expulsaram da Sicília, converteu-se numa forasteira naquela cidade fria e inóspita. E, em rápida sucessão, enviuvou, passou a viver de uma pensão do Estado e da caridade da família do marido. E antes mesmo que Giuseppe concluísse a escola fundamental, era mãe de um delinqüente.
Desde a morte do marido, à qual sua reação emocional assombrou o próprio Peppino e talvez a ela mesma, Concetta passou a se vestir totalmente de preto: a roupa, os sapatos, as meias e até mesmo o xale com que saía de casa. Posto que tivesse engordado com o tempo e ficado totalmente enrugada devido ao desgosto com a vida que o filho levava, nunca mais tirou o preto: ia levá-lo à sepultura e, talvez, além dela.
“Buon giorno, signora Concetta”, disse Brunetti, sorrindo e apertando-lhe a mão.
A mulher o examinou atentamente, leu sua expressão qual uma criança virando rapidamente as páginas de um gibi. Houve o reconhecimento instantâneo, o instintivo sentimento de repulsa pelo que Brunetti representava, mas logo veio a recordação da bondade que ele demonstrara para com seu filho, sua estrela, seu sol e, graças a isso, ela abrandou a fisionomia e descontraiu os lábios num sorriso de genuíno prazer. “Ah, dottore, o senhor veio me visitar outra vez! Quanta gentileza, quanta gentileza. Mas devia ter avisado para que eu arrumasse a casa, fizesse um bolo.”Brunetti entendeu as palavras “avisado”, “arrumasse”, “casa” e “bolo” e, com isso, conseguiu reconstituir a frase completa.
“Signora, uma xícara do seu café delicioso é mais do que eu podia esperar.”
“Entre, entre”, disse a viúva, agarrando-lhe o braço e puxando-o. E, sem o soltar, como se temesse que ele fugisse, afastou-se da porta rumo ao interior do apartamento.
Fechou-a com uma mão e com a outra continuou arrastando-o. O apartamento era tão minúsculo que ninguém conseguiria se perder lá dentro; mesmo assim, ela continuou segurando-lhe o braço e levou-o para a pequenina sala de estar. “Sente-se, dottore”, disse, conduzindo-o a uma poltrona excessivamente estofada e coberta com uma manta alaranjada brilhante, onde finalmente o soltou. Como Brunetti hesitasse, ela insistiu. “Sente, sente. Eu vou fazer um café.”
Ele obedeceu e afundou na fofa poltrona, ficando com os joelhos quase à altura do queixo. Acendeu o abajur ao lado; os Ruffolo viviam na eterna penumbra dos apartamentos térreos, e a luz acesa em pleno dia não eliminava a umidade.
“Fique aí”, ordenou a viúva, e, atravessando a sala, abriu uma cortina florida, atrás da qual havia uma pia e um fogão. Do lugar onde estava, Brunetti viu que as torneiras luziam e a superfície do fogão era quase radiante de tão branca. Ela abriu um armário e tirou o bule cilíndrico e reto de expresso que ele sempre associava ao Sul, embora não soubesse por quê. Desenroscou-o, enxaguou-o com cuidado, tornou a enxaguá-lo, encheu-o de água e, a seguir, pegou um vidro de pó de café. Com gestos cadenciados por anos e anos de prática, encheu o bule, colocou-o no fogão e acendeu o fogo.
A sala continuava exatamente como da última vez em que Brunetti lá estivera. O vaso de flores amarelas de plástico diante da madona de gesso; as peças bordadas — ovais, retangulares e circulares — cobrindo todas as superfícies; sobre elas, havia filas e filas de fotografias da família, em todas as quais figurava Peppino: Peppino vestido de marinheiro, Peppino todo de branco no dia da Primeira Comunhão, Peppino montando um burrico, um sorriso amedrontado nos lábios. Todas as fotos destacavam aquelas orelhas enormes que o tornavam quase uma caricatura. Num canto ficava o que só se podia descrever como o santuário do falecido sr. Ruffolo: o retrato de casamento, no qual Brunetti teve oportunidade de ver a extinta beleza de Concetta; a bengala do marido encostada num canto, o cabo de marfim brilhando mesmo na semi-escuridão; sua lupara, os canos curtos e letais polidos e lubrificados mais de uma década depois da sua morte, como se mesmo no outro mundo ele não tivesse se livrado da necessidade de afirmar o clichê do macho siciliano, sempre pronto para usar a espingarda na defesa da honra e da família.
Brunetti continuou observando enquanto a velha, aparentemente alheia à presença dele, tirava de um armário a bandeja e os pratos e de outro uma lata que abriu com uma faca. Dela extraiu biscoitos e mais biscoitos, empilhando-os num dos pratos. De outra lata tirou doces embrulhados em celofane de cores fortes e os acumulou no segundo prato. O café ficou pronto, e ela pegou rapidamente o bule, virou-o de ponta-cabeça com um rápido movimento e levou a bandeja para a mesa grande que ocupava quase todo um lado da sala. Como um jogador dando as cartas, manejou pratos, pires, colheres e xícaras, dispondo-os cuidadosamente na toalha de plástico, e então levou o café para a mesa. Feito isso, virou-se para ele e o chamou com um gesto.
Não foi sem esforço que Brunetti se levantou da poltrona baixa, apoiando firmemente as mãos nos braços. A viúva lhe ofereceu uma cadeira à mesa, esperou que se sentasse e então se instalou à sua frente. Os dois pires de Capodimonte tinham rachaduras capilares que convergiam da borda para o centro como as rugas finíssimas que Brunetti se lembrava de ter visto no rosto de sua avó. As colheres brilhavam, e, ao lado do prato, havia um guardanapo de linho retangular e engomadíssimo.
A signora Ruffolo serviu duas xícaras, colocou uma delas diante de Brunetti e lhe empurrou o açucareiro de prata. Usando uma pinça também de prata, colocou seis biscoitos no prato dele, todos do tamanho de um damasco, depois usou a mesma pinça para lhe servir mais quatro doces embrulhados.
Brunetti adoçou e provou a bebida. “É o melhor café de Veneza, signora. Jura que não vai me contar o segredo?”
Ela sorriu, mostrando que havia perdido mais um dente, dessa vez o incisivo direito. Ele mordeu o biscoito, sentiu a intensa doçura. Amêndoas, açúcar, uma massa finíssima e mais açúcar. O outro era de pistache. O terceiro, de chocolate; e o quarto, recheado de creme. Brunetti deu uma mordida no quinto e devolveu a metade ao prato.
“Coma, dottore, o senhor está muito magro. Coma. O açúcar dá energia. E faz bem para o sangue.” Os substantivos transmitiam a mensagem.
“Estão uma delícia, signora Concetta. Mas eu acabo de almoçar, e se comer muito não consigo jantar, e a minha mulher fica brava.”
A viúva concordou com um gesto. Compreendia a ferocidade das esposas.
Brunetti terminou de tomar o café e colocou a xícara no pires. Em menos de três segundos, ela se levantou, atravessou a sala e retornou com uma garrafa de cristal lapidado e dois cálices do tamanho de azeitonas. “Marsala. Da minha terra”, disse, vertendo uma dose mínima num dos cálices. Brunetti pegou-o, esperou que ela se servisse de algumas gotas, brindou e bebeu. Aquilo tinha gosto de sol, de mar e de canções que falavam de amor e morte.
Ele pôs o cálice na mesa, fitou-a e disse: “Signora Concetta, eu acho que a senhora sabe por que eu estou aqui”.
Ela fez que sim. “Peppino?”
“Sim, signora.”
A velha ergueu a mão, a palma voltada para ele, como que para bloquear suas palavras ou talvez para se proteger do malocchio.
“Signora, eu acho que Peppino está envolvido com uma coisa muito grave.”
“Mas desta vez...”, ela começou a dizer, mas, lembrando-se de quem era o seu interlocutor, interrompeu-se. “Ele não é um bandido.”
Brunetti esperou até ter certeza de que Concetta não ia dizer mais nada e prosseguiu. “Signora, hoje eu conversei com um amigo. Ele me disse que acha que Peppino está metido com um homem muito mau. A senhora sabe disso? Sabe o que Peppino está fazendo, com quem tem andado desde que...”, escolheu as palavras com cuidado, “desde que voltou para casa?”
Ela pensou muito antes de responder. “Peppino andava com gente ruim quando estava lá.” Mesmo agora, depois de tanto tempo, aquela mulher era incapaz de pronunciar o nome do lugar. “Ele falou nessa gente.”
“O que ele disse, signora?”
“Disse que era gente importante, que a sua sorte ia mudar.” Sim, Brunetti se lembrava disso em Peppino: sua sorte estava sempre para mudar.
“E contou mais alguma coisa?”
A viúva sacudiu a cabeça. Um gesto negativo, sem dúvida, mas era difícil saber o que estava negando. Brunetti jamais descobrira até que ponto a signora Concetta estava a par das atividades do filho. Imaginava que ela sabia muito mais do que mostrava, mas temia que escondesse o que sabia até de si própria. Nenhuma mãe conseguia suportar toda a verdade.
“A senhora conheceu algum deles?”
Ela tornou a sacudir a cabeça, dessa vez com veemência. “Peppino não os traz aqui, não na minha casa.” Isso era verdade, sem dúvida.
“Signora, nós estamos procurando Peppino.”
A velha fechou os olhos e baixou a cabeça. Fazia apenas quinze dias que o garoto saíra de lá, e a polícia já estava no seu encalço.
“O que ele fez, dottore?”
“Nós não temos certeza. Queremos falar com ele. Disseram que foi visto no lugar em que se cometeu um crime. Mas quem disse isso só o conhece pelo retrato.”
“Então pode ser que não tenha sido o meu filho?”
“Nós não sabemos, signora. É por isso que queremos falar com ele. Sabe onde ele está?”
Ela sacudiu a cabeça, porém, uma vez mais, e Brunetti ficou na dúvida se era por não saber ou por não querer contar.
“Se a senhora conversar com Peppino, pode lhe dizer duas coisas por mim?”
“Posso, dottore.”
“Por favor, diga que nós precisamos falar com ele. E diga que essa gente é muito ruim e pode ser perigosa.”
“Dottore, o senhor é uma visita, de modo que eu não devia perguntar isso.”
“O quê, signora?”
“É verdade mesmo ou é uma armadilha?”
“Olhe, isso eu juro por qualquer coisa que a senhora quiser.”
Sem hesitar, ela exigiu: “Jura pelo coração da sua mãe?”.
“Eu juro pelo coração da minha mãe que é verdade. Peppino precisa ir conversar conosco. E precisa tomar muito cuidado com essa gente.”
A viúva pôs o cálice na mesa, não tinha provado a bebida. “Eu vou tentar falar com ele, dottore. Mas será que desta vez não é diferente?” Havia muita esperança em sua voz. Brunetti se deu conta de que Peppino devia ter falado muito bem dos tais amigos importantes, da nova chance que surgira: agora tudo ia ser diferente e eles finalmente ficariam ricos.
“Lamento, signora”, disse ele com franqueza. Levantou-se. “Obrigado pelo café e os biscoitos. Ninguém, em Veneza, é capaz de fazê-los como a senhora.”
Concetta também se levantou, pegou um punhado de doces e os enfiou no bolso do paletó de Brunetti. “Para os seus filhos. Eles estão crescendo. O açúcar faz bem.”
“A senhora é muito gentil”, disse ele, tristemente consciente de que era verdade.
A signora Ruffolo o acompanhou até a porta, puxando-o novamente pelo braço, como se ele fosse cego ou pudesse se perder no caminho. Os dois se despediram formalmente com um aperto de mão, e ela ficou à porta, vendo-o afastar-se.
15
Domingo era o dia que Paola mais temia na semana, pois acordava com um estranho ao lado dela. Ao longo dos anos de casamento, fora se habituando a despertar com o marido intratável, um casca-grossa incapaz do menor gesto de delicadeza pelo menos até uma hora depois de abrir os olhos, uma presença azeda da qual só se podiam esperar resmungos e olhares enviesados. Mesmo estando longe de ser o mais doce parceiro de cama, pelo menos ele a deixava dormir em paz. No domingo, porém, era substituído por um homem que — Paola tinha ódio da própria palavra — trinava. Livre do trabalho e da responsabilidade, simplesmente se transfigurava: era meigo, brincalhão, carinhoso até. Ela o detestava.
Naquele domingo, Brunetti acordou às sete, pensando no que fazer com o dinheiro que ganhara no Casinò. Podia se adiantar ao sogro e comprar o computador para Chiara. Podia adquirir um sobretudo novo para enfrentar o inverno. Podia passar uma semana no campo com toda a família em janeiro. Ainda ficou meia hora debaixo das cobertas, gastando e tornando a gastar o dinheiro; por fim, o desejo de tomar café o tirou da cama.
Foi cantarolando para a cozinha, pegou a cafeteira maior, encheu-a e a pôs no fogão, ao lado da leiteira, também cheia; então foi para o banheiro. Quando saiu, os dentes escovados, o rosto a brilhar com o choque da água fria, o café estava pronto, inundando o apartamento com seu aroma. Ele serviu duas canecas grandes, acrescentou leite e açúcar e voltou para o quarto. Colocou as canecas no criado-mudo, meteu-se na cama e esmurrou o travesseiro até o deixar numa posição que lhe permitisse beber sem maiores desastres. Sorveu ruidosamente a bebida, remexeu-se em busca de uma posição mais confortável e disse baixinho: “Paola”.
A massa informe ao seu lado, que era a sua cândida esposa, não reagiu.
“Paola”, repetiu ele um pouco mais alto. “Hum, que café gostoso, acho que vou tomar mais um pouco”, coisa que tratou de fazer mais escandalosamente ainda. Uma mão emergiu entre os lençóis, cerrou-se no ar e lhe aplicou um soco no ombro. “Que delícia, que delícia de café. Acho que vou tomar mais um pouco.” Ouviu-se um som claramente ameaçador. Sem fazer caso dele, Brunetti bebeu mais um gole. Sabendo o que ia acontecer, apressou-se a pôr a caneca no criado-mudo para não derramar a bebida. “Hum”, foi tudo que ele disse antes que a massa informe entrasse em erupção, e Paola, agora deitada de costas feito um peixe enorme, estendesse o braço diante do peito do marido. Voltando-se para o criado-mudo, ele pegou a outra caneca e a colocou em sua mão, mas logo a afastou para que ela se acomodasse no travesseiro.
A cena ocorrera pela primeira vez na segunda semana de casamento, ainda na lua-de-mel, quando Brunetti se debruçou sobre a esposa adormecida e se pôs a fungar em sua orelha. A voz fria como o aço que disse “Se você não parar com isso eu lhe arranco o fígado e o como cru” informou-o de que a lua-de-mel tinha chegado ao fim.
Por mais que tentasse, o que não era muito difícil, Brunetti não conseguia entender tanta falta de simpatia por aquilo que ele fazia questão de ver como o seu verdadeiro eu. O domingo era o único dia da semana que lhe pertencia, o único em que não tinha de se ocupar de morte e desgraça, de modo que a pessoa que acordava, ele insistia, era o homem verdadeiro, o autêntico Brunetti, e ele podia se desvencilhar daquela outra criatura, tão parecida com o sr. Hyde, por não ser de modo nenhum representativa do seu espírito. Paola não sabia aproveitar.
Enquanto ela tomava o café com leite e se esforçava para abrir os olhos, ele ligou o rádio no noticiário matinal, embora soubesse que isso implicava o risco de ficar com um humor parecido com o da sua cara-metade. Mais três assassinatos na Calábria, todos membros da máfia, entre eles um pistoleiro procurado (um a menos, pensou Brunetti); boatos sobre o iminente colapso do governo (quando não era iminente?); um navio carregado de lixo tóxico ancorado em Gênova, devolvido da África (por que não?); e um padre assassinado em seu jardim, oito tiros na cabeça (teria imposto uma penitência muito severa na confissão?). Ele desligou o rádio, enquanto ainda dava tempo de salvar o dia, e olhou para a esposa. “Você está acordada?”
Ainda incapaz de falar, Paola se limitou a fazer que sim.
“O que a gente faz com o dinheiro?”
Ela sacudiu a cabeça, o nariz mergulhado na fumaça do café.
“Você quer alguma coisa?”
Paola terminou de beber, entregou-lhe a caneca sem nenhum comentário e tornou a cair no travesseiro. Observando-a, Brunetti não soube dizer se era melhor dar-lhe mais café ou proceder à respiração artificial. “As crianças estão precisando de alguma coisa?”
Sem abrir os olhos, ela sacudiu a cabeça.
“Tem certeza de que você não quer nada?”
Ainda que à custa de um esforço sobre-humano, Paola conseguiu dizer: “Suma daqui durante uma hora, depois me traga um brioche e mais café”. Dito isso, virou-se de bruços e adormeceu antes que o marido tivesse saído do quarto.
Brunetti tomou um longo banho de chuveiro, barbeando-se sob o dilúvio de água quente, satisfeito por não ter de enfrentar a sensibilidade ecológica dos outros membros da família, sempre dispostos a denunciar o que lhes parecia um desperdício ou uma agressão ao meio ambiente. Ele se considerava um sujeito cuja família fazia questão de abraçar as causas e os princípios que mais contribuíam para contrariá-lo. Estava convencido de que todos os outros homens conseguiam ter filhos que se contentavam em se preocupar com coisas remotas — a floresta tropical, os testes nucleares, a triste situação dos curdos. Ele, no entanto, um policial graduado, um cidadão que até os jornais elogiavam, tinha sido proibido, pelos membros de sua própria família, de comprar água mineral em garrafa de plástico. Era obrigado a pedir garrafa de vidro e subir e descer noventa e três degraus com elas. Se ficasse no chuveiro mais tempo do que a média dos seres humanos precisa para lavar as mãos, crivavam-no ferozmente de denúncias da falta de consciência do Ocidente, do seu prazer em esgotar os recursos do mundo. Quando Brunetti era menino, condenavam o desperdício porque eles eram pobres; agora o condenavam porque eram ricos. Nesse ponto, ele descobriu que era dificílimo fazer a barba e rir ao mesmo tempo, de modo que abandonou seu catálogo de aflições e terminou o banho.
Vinte minutos depois, ao sair do prédio, sentiu-se invadido por uma grande e inespecífica sensação de prazer. Embora a manhã estivesse fresca, o dia seria de calor, um daqueles dias gloriosos e ensolarados que adornavam a cidade no outono. O ar estava tão seco que era impossível acreditar que Veneza fora erigida na água, embora bastasse olhar para a direita, ao passar por qualquer rua lateral, a caminho de Rialto, para ver a prova inquestionável desse fato.
Chegando a uma grande rua transversal, ele virou à esquerda e tomou o rumo do mercado de peixe, agora fechado por ser domingo, mas ainda exalando o leve cheiro do peixe que lá se vendia havia centenas de anos. Atravessou uma ponte, virou à esquerda e entrou numa pasticceria. Pediu uma dúzia de doces. Mesmo que não os comessem todos no café, Chiara fatalmente daria cabo deles durante o dia. Provavelmente ainda de manhã. Equilibrando o pacote retangular na palma da mão, voltou em direção a Rialto, logo virou à direita e seguiu para San Polo. Em San Aponal, parou numa banca e comprou dois jornais, o Corriere e Il Manifesto, imaginando que fossem os que Paola queria ler aquele dia. De volta ao prédio, nem parecia haver escada quando ele subiu ao apartamento.
Encontrou a esposa na cozinha, o café quase transbordando na cafeteira. No corredor, ouviu Raffaele gritar com Chiara à porta do banheiro. “Ande logo, menina! Você pretende passar a manhã inteira aí dentro?” Ah, a polícia aquática estava de plantão novamente.
Brunetti pôs o embrulho na mesa e rasgou o papel branco. A pilha de doces brilhou com o caramelo, e os finíssimos grãos de açúcar de confeiteiro flutuaram no ar e foram se depositar na madeira escura da mesa. Ele pegou um pedaço de apfelstrudel e deu uma mordida.
“Onde você comprou isso?”, perguntou Paola, servindo o café.
“Na praça perto de Carampane.”
“Foi até lá?”
“O dia está lindo. Vale a pena dar uma volta depois do café. A gente pode almoçar em Burano. Vamos? O dia está perfeito para um passeio.” A idéia — a longa viagem de barco até a ilha, o sol a brilhar na doida colcha de retalhos das casas coloridíssimas quando estivessem chegando — o animou ainda mais.
“Boa idéia”, concordou Paola. “E os meninos?”
“Pergunte para eles. Chiara vai querer ir.”
“Está bem. Talvez Raffi também queira.”
Talvez.
Ela empurrou o Manifesto para ele e ficou com o Corriere. Não se faria nada, não se moveria uma palha para abraçar aquele dia glorioso enquanto Paola não tivesse tomado pelo menos mais duas xícaras de café e lido os jornais. Brunetti pegou o dele com uma mão, a caneca com a outra e, atravessando a sala de estar, foi para o terraço. Deixou tudo lá, voltou, pegou uma cadeira de encosto reto, colocou-a à distância certa do parapeito, sentou-se, inclinando-a para trás, e apoiou os pés no parapeito. Abriu o jornal e começou a ler.
Com os sinos das igrejas a tocar e o sol se derramando copiosamente em seu rosto, ele viveu um momento de paz absoluta.
Paola chegou à porta do terraço e disse: “Guido, como se chamava mesmo aquela médica?”.
“A bonita?”, perguntou ele sem tirar os olhos do jornal, sem prestar atenção à voz dela.
“Qual era o nome dela, Guido?”
Brunetti baixou o jornal e a fitou. Ao ver-lhe o rosto, tirou os pés do parapeito e endireitou a cadeira. “Peters.” Paola fechou os olhos um instante, depois lhe entregou o Corriere aberto numa página central.
Ele leu em voz alta: “Médica Americana Morre de Overdose”. A reportagem era breve, podia passar despercebida, não mais do que seis ou sete linhas. O corpo da capitã Terry Peters, uma pediatra do exército norte-americano, fora encontrado na tarde de sábado, em seu apartamento em Due Ville, província de Vicenza. A dra. Peters, que trabalhava no hospital militar de Caserme Ederle, fora encontrada por um amigo que resolveu verificar por que ela não tinha ido trabalhar aquela manhã. Perto do corpo da médica, acharam uma seringa usada. Também havia sinais de uso de outra droga, assim como indícios de que ela bebera. Os carabinieri e a Polícia do Exército norte-americano estavam investigando.
Brunetti releu várias vezes a notícia. Procurou no Manifesto, mas não encontrou nenhuma menção ao fato.
“Isso é possível, Guido?”
Ele sacudiu a cabeça. Não, overdose era impossível, mas a dra. Peters estava morta; o jornal o provava.
“O que você vai fazer?”
Brunetti ficou olhando para a torre de San Polo, a igreja mais próxima. Não tinha a menor idéia. Patta veria aquilo como um fato desvinculado ou, caso tivesse algum vínculo, seria um infeliz acidente ou, na pior das hipóteses, um suicídio. Como só Brunetti sabia que ela destruíra o cartão-postal do Cairo e só Brunetti tinha visto sua reação diante do corpo do amante, nada era capaz de ligar os dois senão como colegas, coisa que certamente não levaria ninguém ao suicídio. Drogas, álcool e uma mulher que morava sozinha; isso bastava para saber que tratamento a imprensa daria ao fato — a menos... a menos que os editores recebessem o mesmo tipo de telefonema que o vice-questore, com toda a certeza, havia recebido. Assim como a dra. Peters.
“Não sei”, disse, respondendo enfim à pergunta de Paola. “Patta me afastou do caso, proibiu-me de voltar a Vicenza.”
“Mas é claro que isso muda tudo.”
“Não para ele. Foi overdose e ponto final. Os carabinieri e a Polícia do Exército vão cuidar do caso. Farão a autópsia, depois mandarão o corpo para os Estados Unidos.”
“Exatamente como aconteceu com o rapaz”, disse Paola, exprimindo seus pensamentos. “Por que será que mataram os dois?”
Brunetti sacudiu a cabeça. “Eu não sei.” Mas sabia. Tinham silenciado a médica. Quando ela dissera en passant que não se interessava por drogas, não estava mentindo: a idéia de overdose era um despropósito. Peters fora assassinada por causa do que sabia sobre Foster, por causa daquilo que fizera com que ela se afastasse com tanta precipitação do corpo do amante. Morta pelas drogas. Brunetti chegou a se perguntar se aquilo não era um recado para ele, mas rejeitou a idéia por ser pretensiosa. Quem a matara não tinha tempo para providenciar um acidente, e um segundo homicídio daria na vista, um suicídio seria inexplicável e, portanto, suspeito. De modo que uma overdose acidental era a solução perfeita: ela causara a própria morte, não havia necessidade de procurar ninguém: mais um beco sem saída. E Brunetti não sabia nem sequer se foi mesmo ela que telefonou para dizer “Basta”.
Paola se aproximou e pousou a mão no ombro do marido. “Eu lamento, Guido. Lamento por ela.”
“Essa moça não tinha nem trinta anos. Tantos anos na faculdade, tanto trabalho.” Era como se aquela morte fosse menos injusta se ela tivesse tido tempo de se divertir mais. “Tomara que sua família não acredite.”
Paola disse o que pensava: “Quando a polícia e o exército dizem alguma coisa, a gente tende a acreditar. E eu tenho certeza de que pareceu muito real, muito convincente”.
“Coitados”, disse ele.
“Você pode...”, ela se interrompeu, lembrando-se de que Patta o havia afastado do caso.
“Se eu puder. Já é ruim demais que ela tenha morrido. Eles não precisam acreditar nisso.”
“O fato de essa moça ter sido assassinada não melhora as coisas”, disse Paola.
“Mas pelo menos não foi ela que o fez.”
E os dois ficaram ali, ao sol do fim do outono, pensando na condição de pai ou mãe e no que eles queriam e precisavam saber sobre os filhos. Brunetti não tinha idéia do que era melhor ou pior. Quem soubesse que a filha fora assassinada pelo menos podia cultivar a sinistra esperança de um dia matar o assassino, mas isso estava longe de ser uma consolação.
“Eu devia ter telefonado para ela.”
“Guido”, disse Paola com firmeza, “faça o favor de não começar. Só se você tivesse o dom de ler pensamento. Mas não tem. Portanto, não comece a pensar assim.” Brunetti ficou surpreso com a raiva na voz da esposa.
Enlaçou-lhe a cintura e a puxou para junto de si. E eles ficaram assim, calados, até que os sinos de San Marco badalassem as dez horas.
“O que você pretende fazer? Vai a Vicenza?”
“Não, ainda não. Vou esperar.”
“Esperar o quê?”
“Se eles sabiam de alguma coisa, era porque trabalhavam lá. Isso os vinculava. Deve haver outras pessoas que sabem ou suspeitam ou têm acesso ao que eles descobriram. Por isso é melhor esperar.”
“Guido, agora você está querendo que os outros tenham o dom de ler o seu pensamento. Como eles vão saber que precisam procurá-lo?”
“Quando eu for lá, coisa que só vai acontecer daqui a uma semana, vou fazer de tudo para chamar a atenção. Falar com o major, com o sargento que trabalhava com eles, com os outros médicos. Aquilo é um vilarejo. As pessoas vão começar a falar, e alguém deve saber alguma coisa.” E Patta que fosse para o inferno.
“Burano fica para uma outra vez, está bem, Guido?”
Ele fez que sim e se levantou. “Acho que eu vou dar uma volta. Até a hora do almoço.” Apertou-lhe carinhosamente o braço. “Preciso andar um pouco.” Olhou para os telhados da cidade. Que estranho, o brilho do dia não diminuíra. Os pardais saltitavam e brincavam de pegador quase ao alcance de suas mãos, cantando a alegria de voar. E, ao longe, o dourado das asas do anjo, no alto da torre de San Marco, brilhava ao sol, banhando toda a cidade com sua bênção reluzente.
16
Na manhã de segunda-feira, Brunetti foi para o escritório no horário normal e passou mais de uma hora contemplando a fachada da igreja de San Lorenzo. Durante todo esse tempo, não viu sinal de movimento ou atividade nem nos andaimes nem no telhado, no qual se empilhavam ordenadas fileiras de telhas de cerâmica. Ouviu duas vezes entrarem no escritório, mas, como não lhe dirigiram a palavra, ele não se deu ao trabalho de se virar: quem ali entrara devia ter deixado alguma coisa na mesa e saído.
Às dez e meia, o telefone tocou, e ele se afastou da janela para atender.
“Bom dia, comissário. Aqui é o maggiore Ambrogiani.”
“Bom dia, maggiore. Que bom que o senhor ligou. Aliás, eu ia lhe telefonar hoje à tarde.”
“Pois eles telefonaram agora de manhã”, disse Ambrogiani sem rodeios.
“E?”, perguntou Brunetti, sabendo a quem o outro estava se referindo.
“Overdose de heroína. Em quantidade suficiente para matar uma pessoa com o dobro do tamanho dela.”
“Quem fez a autópsia?”
“O doutor Francesco Urbani. Gente nossa.”
“Onde?”
“Aqui no hospital de Vicenza.”
“Algum americano presente?”
“Eles mandaram um médico. Veio da Alemanha. Um coronel, o tal médico.”
“Ele assistiu ou só observou?”
“Limitou-se a observar a autópsia.”
“Quem é Urbani?”
“O nosso patologista.”
“Confiável?”
“Muito.”
Consciente da ambigüidade potencial da última pergunta, Brunetti a reformulou: “Pode-se acreditar nele?”.
“Sim.”
“Então quer dizer que foi overdose mesmo?”
“É, parece que foi.”
“Que mais ele descobriu?”
“Urbani?”
“É.”
“Não havia sinais de violência no apartamento. Não havia indício de uso anterior de entorpecentes, mas havia uma contusão no braço direito e outra no pulso esquerdo. Disseram ao doutor Urbani que essas contusões eram compatíveis com uma queda.”
“Quem disse isso?”
A demora de Ambrogiani para responder provavelmente continha uma censura a Brunetti por ter achado necessário perguntar. “O médico americano. O tal coronel.”
“E qual é a opinião do doutor Urbani?”
“Que as marcas não são incompatíveis com uma queda.”
“Alguma outra picada de agulha?”
“Não, nenhuma.”
“Quer dizer que ela tomou uma overdose logo na primeira vez em que se drogou?”
“Que coincidência, hem?”, comentou Ambrogiani.
“O senhor a conhecia?”
“Não, eu não. Mas um dos meus homens trabalha com um policial americano cujo filho era cliente dessa médica. Ele diz que ela era muito boa. O menino quebrou o braço no ano passado e não foi bem atendido no começo. Médicos e enfermeiros apressados, ocupados demais para lhe explicar o que estavam fazendo; o senhor sabe como é, de modo que ele ficou com medo de médicos, com medo de que voltassem a tratá-lo mal. Ela foi muito atenciosa, dedicava muito tempo ao garoto. Parece que sempre reservava dois horários consecutivos para não ter de atendê-lo às pressas.”
“Isso não quer dizer que não se drogava, maggiore”, observou Brunetti, tentando fingir que acreditava no que estava dizendo.
“Não, claro que não.”
“Que mais diz o laudo?”
“Não sei”, respondeu Ambrogiani. “Ainda não recebi a cópia.”
“Então como o senhor sabe tudo isso?”
“Eu telefonei para Urbani.”
“Por quê?”
“Doutor Brunetti. Um soldado americano foi assassinado em Veneza. Menos de uma semana depois, a sua superiora imediata morre em circunstâncias misteriosas. Eu teria de ser muito burro para não suspeitar que há algum tipo de conexão entre os dois fatos.”
“Quando o senhor vai receber a cópia do laudo?”
“Provavelmente hoje à tarde. Quer que eu lhe telefone?”
“Quero. Eu agradeceria muito, maggiore.”
“Mais alguma coisa que eu deva saber?”
Ambrogiani estava lá, em permanente contato com os americanos. Qualquer coisa que Brunetti lhe contasse seria uma troca justa. “Eles tinham um caso, e ela ficou muito assustada quando viu o corpo.”
“Quando viu o corpo?”
“Sim. Foi ela que veio identificar o cadáver.”
O silêncio de Ambrogiani sugeriu que também ele via nesse fato um toque particularmente sutil. “O senhor conversou com ela depois disso?”
“Sim e não. Nós voltamos no mesmo barco para o centro, mas ela não quis tocar no assunto. Eu tive a impressão de que estava com medo de alguma coisa. Teve a mesma reação quando nos encontramos aí.”
“Isso quando o senhor esteve aqui?”, quis saber Ambrogiani.
“Exatamente. Sexta-feira passada.”
“O senhor tem alguma idéia do que a atemorizava?”
“Não. Nenhuma. Pode ser que ela tenha tentado entrar em contato comigo sexta-feira à noite. Uma mulher que não falava italiano deixou recado aqui na questura. O telefonista que recebeu a ligação não falava inglês, a única coisa que conseguiu entender foi a palavra ‘Basta’.”
“O senhor acha que era ela?”
“Pode ser que sim, não sei. Mas o recado não tem sentido.” Brunetti pensou na ordem de Patta. “O que vocês vão fazer aí?”
“A Polícia do Exército deles vai tentar descobrir onde ela obteve a heroína. Encontraram outros sinais de entorpecente no apartamento, pontas de baseado, um pouco de haxixe. E a autópsia mostrou que ela estava alcoolizada.”
“Com certeza não deixaram pairar nenhuma dúvida, hem?”
“Não há nenhum indício de que ela tenha tomado a injeção à força.”
“E as contusões?”
“Um tombo.”
“Então parece que foi ela mesma que se entupiu de droga?”
“Parece.” Os dois passaram algum tempo em silêncio; então Ambrogiani perguntou: “O senhor vem para cá?”.
“Eu recebi ordem de parar de incomodar os americanos.”
“Ordem de quem?”
“Do vice-questore aqui de Veneza.”
“E o que pretende fazer?”
“Vou esperar uns dias, uma semana, depois quero dar um pulo aí e conversar com o senhor. Os seus homens têm contato com os americanos?”
“Não muito. Aqui é cada macaco no seu galho. Mas vamos ver o que eu consigo descobrir a respeito dela.”
“Havia italianos trabalhando com eles?”
“Acho que não. Por quê?”
“Eu não tenho certeza. Mas os dois, principalmente Foster, viajavam a serviço, viviam indo a lugares como o Egito.”
“Drogas?”, perguntou Ambrogiani.
“Talvez. Mas também pode ser outra coisa.”
“O quê?”
“Não sei. Não acredito que eles estivessem metidos com drogas.”
“No que você acredita?”
“Não sei.” Brunetti ergueu a vista e deu com Vianello à porta do escritório. “Olhe, maggiore, eu preciso atender uma pessoa agora. Volto a lhe telefonar daqui a alguns dias. Então a gente decide quando vou aí.”
“Está bem. Vou ver se consigo descobrir alguma coisa.”
Brunetti desligou e fez sinal para que Vianello entrasse. “Alguma novidade sobre Ruffolo?”, perguntou.
“Sim, senhor. O pessoal que mora no prédio da namorada contou que ele esteve lá na semana passada. Foi visto algumas vezes na escada, mas faz uns três ou quatro dias que não aparece. Quer que eu fale com ela?”
“Quero, acho melhor. Diga que agora é diferente das outras vezes. Viscardi foi assaltado, e isso muda tudo, principalmente para ela, se o estiver escondendo ou souber onde ele está.”
“Será que funciona?”
“Com Ivana?”, perguntou Brunetti com sarcasmo.
“Bom, não. Claro que não”, concordou Vianello. “Em todo caso, eu vou tentar. Mesmo porque é melhor falar com Ivana do que com a mãe dela. Pelo menos a gente entende o que ela diz, mesmo que seja tudo mentira.”
Quando Vianello saiu para tentar interrogar a moça, Brunetti voltou a se postar à janela, mas, poucos minutos depois, achou aquilo insatisfatório e foi se sentar à escrivaninha. Alheio às pastas que lá haviam colocado de manhã, ficou avaliando as várias possibilidades. A primeira, a de overdose, ele rejeitou de pronto. Suicídio também era impossível. Brunetti já tinha visto amantes desesperados, que não enxergavam a menor possibilidade de continuar vivendo sem a outra pessoa, mas não era o caso dela. Eliminadas essas duas hipóteses, a única que restava era a de homicídio.
Para perpetrá-lo, no entanto, seria necessário um mínimo de planejamento, pois ele excluía o fator sorte nessas coisas. Havia as tais contusões — nem por um segundo Brunetti acreditou numa queda —, talvez a tivessem segurado enquanto lhe aplicavam a injeção. A autópsia mostrava que ela havia bebido; que quantidade uma pessoa precisava beber para dormir profundamente a ponto de não sentir uma picada de agulha ou para ficar embriagada a ponto de não ser capaz de oferecer resistência? Mais importante ainda: com quem ela bebera? Com o amante não foi; o dela acabava de ser assassinado. Um amigo, pois, mas quem era amigo dos americanos no exterior? Enfim, tudo isso apontava uma vez mais para a base militar e para o trabalho dela, pois Brunetti tinha certeza de que era lá que estava a resposta, fosse qual fosse.
17
Nos três dias que se seguiram, Brunetti não fez quase nada. Na questura, limitava-se à rotina burocrática de sua função: examinar documentos, assiná-los, fazer a projeção do pessoal necessário no ano seguinte, sem dar a mínima para o fato de que competia a Patta tal tarefa. Em casa, conversava com Paola e as crianças, todas ocupadas demais com o início das aulas para reparar no quanto ele andava distraído. Nem mesmo a captura de Ruffolo lhe despertava grande interesse, afinal, sabia perfeitamente que um sujeito tão ingênuo e temerário não tardaria a cometer um erro que o levaria a cair uma vez mais nas mãos da polícia.
Não telefonou para Ambrogiani e, durante os encontros com o vice-questore, não falou nos assassinatos — um que a imprensa se apressou a esquecer, o outro que nem chegou a ser considerado um assassinato — nem na base militar de Vicenza. Com uma freqüência quase obsessiva, imaginava cenas com a jovem médica, evocava as imagens que dela tinha na memória: segurando seu braço para desembarcar; debruçando-se na pia do necrotério, o corpo sacudido pelos espasmos do choque; dizendo-lhe com um sorriso que, dali a seis meses, ia começar a viver.
Era próprio do trabalho de policial não conhecer as vítimas cuja morte investigava. Por mais que ele acabasse penetrando na intimidade delas, sabendo como eram no trabalho, na cama e na morte, nunca as via vivas, de modo que acabou criando um vínculo muito especial com a dra. Peters e, por isso mesmo, sentia-se no dever de descobrir quem a matara.
Na manhã de quinta-feira, ao chegar à questura, Brunetti conversou com Vianello e Rossi, mas ainda não havia sinal de Ruffolo. Viscardi retornara a Milão, mas tinha deixado por escrito — tanto na companhia de seguros quanto na polícia — a descrição dos dois assaltantes: um deles muito alto, o outro, barbudo. Tudo indicava que tinham forçado a entrada no palazzo, pois a fechadura da porta lateral fora arrombada; e o cadeado da grade de metal, limado. Brunetti não chegou a falar com Viscardi, mas as informações de Vianello e Fosco foram suficientes para convencê-lo de que não tinha havido roubo nenhum, ou melhor, de que o que estava sendo roubado era o dinheiro do seguro.
Pouco depois das dez, uma das secretárias entregou a correspondência nos escritórios do último andar, deixando na escrivaninha dele algumas cartas e um envelope grande de papel manilha.
As cartas eram as de sempre: convites para palestras, ofertas especiais de seguro de vida, respostas a perguntas que ele enviara a diversos departamentos de polícia do país. Depois de lê-las, examinou o envelope. Trazia uma faixa estreita de selos no canto superior; deviam ser uns vinte, todos iguais, com uma pequena bandeira norte-americana e o valor de vinte e nove centavos de dólar impresso. Embora lhe fosse destinado pessoalmente, no endereço constava apenas “Questura, Veneza, Itália”. Não lhe ocorreu ninguém que lhe escrevesse dos Estados Unidos. Não havia remetente.
Brunetti abriu o envelope e nele encontrou uma revista. Examinando a capa, reconheceu a publicação médica que a dra. Peters lhe arrebatara das mãos quando o encontrara lendo-a no consultório. Ele a folheou, deteve-se um momento naquelas fotografias grotescas e seguiu até o fim. Entre as últimas páginas, achou três folhas de papel, evidentemente cópias xerox de um documento. Colocou-as na mesa.
O cabeçalho dizia “Ficha Médica”, abaixo havia espaços para o nome, a idade e a classificação do cliente. Lá figurava o nome de Daniel Kayman, cujo ano de nascimento era 1984. Seguiam-se três páginas de histórico médico, iniciando-se com um sarampo em 1989, uma série de sangramentos no nariz no inverno de 1990, um dedo quebrado em 1991 e, nas últimas duas, uma seqüência de consultas, a partir de dois meses antes, devido a uma erupção cutânea no braço esquerdo.
A médica o examinara pela primeira vez no dia 8 de julho. Sua caligrafia caprichada e inclinada dizia que a erupção era “de origem desconhecida”, mas surgira pouco depois de um piquenique a que os pais o levaram. Tomava-lhe quase todo o antebraço, do pulso ao cotovelo, tinha coloração avermelhada, escura, mas não coçava. Ela receitara uma pomada.
Três dias depois, o menino voltara com febre alta. A erupção tinha piorado, passara a secretar um líquido amarelado e doía. A dra. Peters recomendara consultar um dermatologista no hospital local de Vicenza, mas os pais se recusaram a deixar o filho sob os cuidados de um médico italiano. Ela prescrevera outra pomada, esta com cortisona, e um antibiótico para combater a febre.
Apenas dois dias depois, o garoto estivera novamente no hospital e foi examinado por outro médico, o dr. Girrard, que anotara na ficha que as dores estavam muito fortes. Agora a erupção parecia uma queimadura e tendia a se alastrar até o ombro. A mão estava inchada e dolorida. A febre não se alterara.
Outro médico o examinara, um tal dr. Grancheck, aparentemente dermatologista. Determinara que Daniel fosse transferido imediatamente para o hospital militar de Landstuhl, na Alemanha.
No dia seguinte, o menino embarcara num vôo especial. Nada mais se acrescentara ao corpo da ficha médica, mas a dra. Peters, com a sua caligrafia bonita, fizera uma anotação a lápis na margem, perto da observação segundo a qual a erupção do menino agora parecia uma queimadura. Dizia apenas “pcb” e, logo adiante, “fpj de março”.
Já sabendo do que se tratava, Brunetti procurou a data. Family Practice Journal, edição de março. Abriu-a e começou a ler. Reparou que o conselho editorial era constituído quase exclusivamente de homens, que a maioria dos textos era escrita por homens e que os artigos listados no índice tratavam de tudo, desde aquele sobre os pés, que tanto o horrorizara, até um sobre o aumento da incidência de tuberculose em virtude da epidemia de aids. Havia até mesmo um sobre a transmissão de parasitas dos animais domésticos para crianças.
Não tendo encontrado nada no índice, ele iniciou a leitura pela primeira página, inclusive os anúncios e as cartas dos leitores. Na página 62, encontrou uma breve referência a um caso registrado em Newark, Nova Jersey, de uma menininha que estava brincando num estacionamento vazio e pisara no que parecia ser uma poça de óleo que vazara de um carro abandonado. O líquido espirrara em seu sapato, ensopando-lhe a meia. No dia seguinte, ela amanhecera com uma erupção do pé, que não tardara a se transformar numa chaga muito parecida com uma queimadura e a se espalhar pouco a pouco, na perna, até atingir o joelho. Tudo isso vinha acompanhado de febre alta. Nenhum tratamento surtira efeito. Então as autoridades da saúde pública foram ao estacionamento, colheram uma amostra do líquido e constataram que este continha uma grande proporção de pcb (Bifenilas Policloradas), que vazara dos barris de lixo tóxico lá depositados. Embora tivessem conseguido enfim curar a irritação na pele, os médicos estavam preocupados com o futuro da menina devido às seqüelas neurológicas e genéticas freqüentemente observadas em animais nas experiências com substâncias contendo pcb.
Pondo a revista de lado, Brunetti releu a ficha médica. Os sintomas eram idênticos, posto que não houvesse nenhuma referência ao lugar ou ao modo como o garoto tivera contato com a substância que provocara a erupção cutânea. “Um piquenique a que os pais o levaram” era a única coisa que constava na ficha. Tampouco se mencionava o tratamento adotado na Alemanha.
Ele tornou a examinar o envelope. Os selos tinham sido chancelados com um carimbo circular com as palavras “Sistema Postal do Exército”, em inglês, e a data do sábado anterior. Portanto, a dra. Peters havia postado a revista e a ficha na sexta-feira ou no sábado, depois tentara telefonar para ele. Não era “Basta” nem “Pasta” o que tinha dito ao telefonista, e sim “Posta”, para avisar que estava mandando algo pelo correio. O que teria acontecido para alertá-la? O que a levara a remeter-lhe aqueles papéis?
Brunetti se lembrou de uma coisa que Butterworth dissera acerca de Foster: cabia-lhe averiguar se os raios X usados haviam sido retirados do hospital. Também falara em outros objetos e substâncias, mas nada dissera sobre eles nem contou onde eram depositados. Mas obviamente os americanos sabiam.
Só podia ser esse o vínculo entre as duas mortes, do contrário a dra. Peters não lhe teria remetido o envelope nem tentado falar com ele. O menino era paciente dela, mas acabara sendo levado à Alemanha, e ali terminava a sua ficha médica. Brunetti sabia o sobrenome do garoto, e Ambrogiani certamente tinha acesso à lista dos americanos estacionados na base, de modo que seria fácil saber se a família continuava lá. E se não continuasse?
Ele pegou o telefone e pediu uma ligação com o maggiore Ambrogiani na base norte-americana de Vicenza. Enquanto aguardava, tentou imaginar um meio de conectar tudo aquilo, na esperança de descobrir quem havia espetado a agulha no braço da médica.
Ambrogiani atendeu dizendo o próprio nome. Não se mostrou surpreso ao saber quem era, simplesmente esperou, deixando o silêncio se prolongar.
“Algum progresso aí?”, perguntou Brunetti.
“Parece que eles instituíram uma nova bateria de testes de drogas. Todo mundo tem de se submeter, até o comandante do hospital. Dizem que ele foi obrigado a entrar no banheiro masculino e colher amostra de urina enquanto um médico esperava do lado de fora. Ouvi dizer que já fizeram mais de cem esta semana.”
“E o resultado?”
“Oh, nenhum ainda. As amostras foram enviadas para a Alemanha, para o hospital. Lá é que vão ser analisadas. O resultado só sai daqui a um mês.”
“E é exato?”, perguntou Brunetti, assombrado com o fato de uma organização confiar num resultado passado por tantas mãos e tão demorado.
“Eles acham que sim. Se o teste der positivo, o cara simplesmente vai para o olho da rua.”
“Quem está sendo submetido?”
“É aleatório”, respondeu o maggiore. “Os únicos que eles deixam de fora são os que chegam do Oriente Médio.”
“Porque são heróis?”
“Não, porque têm medo de que os testes dêem positivo. É fácil conseguir droga por lá, como no tempo do Vietnã, e, pelo jeito, eles acham que vai ser muita publicidade negativa se todos os heróis voltarem com suvenires no sangue.”
“E continuam dizendo que foi overdose?”
“Sem dúvida. Um dos meus homens contou que a família nem quis vir buscar o corpo.”
“E o que fizeram então?”
“Eles o despacharam para lá. Mas sozinho.”
Brunetti tentou se convencer de que não fazia mal: os mortos não ligavam para essas coisas; pouco se importavam com o tratamento que lhes davam ou com o que os vivos pensavam deles. Mas não conseguiu.
“Eu queria que o senhor obtivesse umas informações para mim, maggiore.”
“Seu eu puder, será um prazer.”
“Queria saber se aí há um soldado chamado Kayman.” Soletrou o nome. “Ele tem um filho de nove anos que era paciente da doutora Peters. O garoto foi levado a um hospital da Alemanha, num lugar chamado Landstuhl. Eu gostaria de saber se os pais ainda estão aí e, se estiverem, queria conversar com eles.”
“Isso tudo é extra-oficial?”
“Completamente.”
“O senhor pode me dizer do que se trata?”
“Eu não sei ao certo. Ela me mandou uma cópia da ficha médica desse garoto e um artigo sobre pcb.”
“Sobre o quê?”
“É um produto químico altamente tóxico. Eu não sei do que se compõe nem que efeito tem, mas sei que é uma coisa difícil de jogar fora. E que é corrosivo. O garoto teve uma erupção no braço, provavelmente provocada pelo contato com essa porcaria.”
“O que isso tem a ver com os americanos?”
“Sei lá. É por isso que eu quero conversar com os pais dele.”
“Tudo bem. Eu vou me ocupar disso agora mesmo e telefono à tarde.”
“O senhor tem como localizá-los sem que os americanos fiquem sabendo?”
“Acho que sim”, respondeu o maggiore. “Nós temos cópia do licenciamento dos veículos, e quase todos eles têm carro, de modo que posso descobrir se esse sujeito continua por aqui sem ter de perguntar nada a ninguém.”
“Ótimo”, disse Brunetti. “Acho melhor que isso fique só entre nós.”
“Quer dizer que os americanos não devem saber?”
“Por enquanto, não.”
“Está bem. Eu telefono quando tiver examinado o registro.”
“Obrigado, maggiore.”
“Giancarlo”, disse o carabiniere. “Já que nós vamos fazer uma coisa dessas, acho que podemos nos tratar por ‘você’.”
“Concordo”, disse Brunetti, contente por ter achado um aliado. “Guido.”
Ao desligar, lamentou não morar nos Estados Unidos. Uma das coisas que mais o fascinara, quando estivera lá, era o sistema de bibliotecas públicas: qualquer um podia simplesmente entrar e fazer perguntas, ler o livro que quisesse, achar facilmente um catálogo de revistas. Na Itália, ou a pessoa comprava o livro, ou o encontrava em uma biblioteca universitária, e mesmo assim era difícil ter acesso sem as carteirinhas, as autorizações e a identificação adequadas. Portanto, como descobrir o que era o tal pcb, de onde vinha e o que fazia com o corpo humano que entrasse em contato com ele?
Brunetti consultou o relógio. Se se apressasse, ainda teria tempo de ir à livraria de San Luca; era provável que lá encontrasse algum livro que lhe fosse útil.
Chegou quinze minutos antes que fechasse e explicou ao vendedor o que queria. Este disse que havia dois livros básicos sobre substâncias tóxicas e poluição, embora um deles tratasse mais das emissões que iam diretamente para a atmosfera. Ainda havia um terceiro, uma espécie de compêndio geral de química para leigos. Depois de examiná-los, Brunetti comprou o primeiro e o terceiro, mas também resolveu levar um texto de aparência incendiária, publicado pelo Partido Verde, com o título Suicídio global. Só esperava que a abordagem do tema fosse mais séria do que prometiam o título e a capa.
Depois de almoçar muito bem num restaurante, voltou ao escritório e abriu o primeiro livro. Três horas depois, estava começando a vislumbrar, cada vez mais chocado e horrorizado, a dimensão do problema que o homem industrial havia criado para si e, o que era pior, para os que o sucederiam no planeta.
Tudo indicava que aquele produto químico era indispensável a muitos processos necessários ao homem moderno, entre os quais a refrigeração, pois servia de aditivo de radiador em geladeiras e condicionadores de ar domésticos. Também era usado no óleo dos transformadores, mas o pcb não passava de uma flor no buquê letal que a indústria dera de presente à humanidade. Brunetti leu os nomes químicos com dificuldade; as fórmulas, com incompreensão. O que restou foram as cifras relativas à meia-vida das substâncias em questão. Imaginava que isso devia ser o tempo que as substâncias demoravam a ficar 50% menos letais do que quando foram medidas. Em alguns casos, eram centenas de anos; em outros, milhares. E o mundo industrializado produzia quantidades enormes desse material à medida que avançava rumo ao futuro.
Durante décadas, o Terceiro Mundo fora o aterro sanitário das nações industrializadas, recebendo cargas e cargas de substância tóxica que eram espalhadas em seus pampas, savanas e platôs e lá ficavam em troca de dinheiro, sem a menor preocupação com o preço que as gerações futuras iam pagar. E agora que alguns países do Terceiro Mundo tinham passado a se recusar a continuar servindo de depósito de lixo do Primeiro, as nações industrializadas eram obrigadas a conceber sistemas de disposição, muitos deles ruinosamente caros. Em conseqüência, frotas de caminhões clandestinos, munidos de faturas falsas, percorriam toda a península Itálica, procurando e achando lugares onde deixar sua carga mortal. E muitos navios partiam de Gênova ou Taranto, os porões repletos de barris de solventes, produtos químicos e só Deus sabe o que mais, e retornavam aos portos de origem sem os barris a bordo, como se o deus que sabia o que eles continham os tivesse acolhido em seu seio. Por vezes, aquilo acabava aparecendo nas praias no Norte da África ou da Calábria, mas, naturalmente, ninguém tinha idéia de onde vinha nem notava quando era devolvido às ondas que o haviam trazido.
O tom do livro publicado pelo Partido Verde o irritou, os fatos o aterrorizaram. Os ecologistas davam os nomes dos transportadores, das empresas que os pagavam e até mostravam fotografias dos lugares em que se encontraram esses resíduos ilegais. A retórica era acusatória, e o réu, segundo os autores, era todo o governo, unha e carne com as empresas que produziam aquelas substâncias e tinham a obrigação legal de responder por sua disposição. O último capítulo falava no Vietnã e no custo genético, só agora visível, das toneladas e toneladas de dioxina jogadas naquele país durante a guerra com os Estados Unidos. Mesmo considerando os inevitáveis exageros dos autores, a descrição dos defeitos congênitos, das elevadas taxas de aborto e da insistente presença da dioxina nos peixes, na água e na própria terra era clara e medonha. E os autores afirmavam que os mesmíssimos produtos químicos estavam sendo depositados cotidianamente em toda a Itália, na base do toma lá, dá cá.
Interrompendo a leitura, Brunetti constatou que havia muita manipulação, que todos os livros apresentavam graves defeitos de raciocínio, estabeleciam conexões onde era impossível demonstrá-las e atribuíam culpa sem provas. Mas também se deu conta de que uma das suposições básicas de todos eles era provavelmente correta: uma tão flagrante e impune violação da lei — assim como a recusa do governo a aprovar uma legislação mais severa — sugeria um forte vínculo entre os que a violavam e o próprio governo, que tinha obrigação de detê-los e processá-los. Acaso aqueles dois inocentes, na base militar, tinham sido tragados por esse vórtice por causa de um menino com uma erupção cutânea no braço?
18
Ambrogiani telefonou por volta das cinco da tarde, contando que o pai do menino, um sargento que trabalhava no departamento de contratação, continuava morando em Vicenza; pelo menos tinha renovado o licenciamento do carro quinze dias antes, e, como o procedimento exigia a assinatura do proprietário do veículo, era de se supor que ainda estivesse lá.
“Onde?”, perguntou Brunetti.
“Não sei. Na documentação só consta o endereço de correspondência, uma caixa postal aqui na base, mas não o residencial.”
“Você pode conseguir?”
“Não sem que os americanos fiquem sabendo que eu estou interessado nele.”
“Não, isso não”, disse Brunetti. “Mas eu preciso achar um meio de falar com ele fora da base.”
“Então me dê um dia. Vou mandar um dos meus homens ao local onde ele trabalha para descobrir quem ele é. Por sorte, todos andam com crachá. Depois é só mandar alguém segui-lo. Não deve ser difícil. Amanhã eu telefono, e a gente dá um jeito de marcar o encontro. Quase todos eles moram fora da base. Principalmente os que têm filhos. Se você telefonar amanhã, eu conto o que consegui fazer, está bem?”
Brunetti não tinha solução melhor. Seu desejo era embarcar imediatamente para Vicenza, falar com o pai do garoto e montar o quebra-cabeça que unia um mero piquenique a uma erupção cutânea e explicava por que uma anotação a lápis, à margem da ficha médica, havia provocado a morte daqueles dois jovens. Já tinha algumas peças; o pai do menino devia estar com outra; cedo ou tarde, juntando-as, examinando-as, reposicionando-as, talvez fosse possível enxergar o padrão agora oculto.
Sem outra saída, ele se conformou em ficar aguardando o telefonema de Ambrogiani no dia seguinte. Tornou a abrir o terceiro livro e, pegando uma folha de papel, elaborou uma lista das empresas suspeitas de transportar ou embarcar resíduos tóxicos sem autorização e outra das que já tinham sido formalmente acusadas de disposição ilegal. A maioria delas ficava no Norte, particularmente na Lombardia, o centro industrial do país.
Verificando o copyright do livro, Brunetti constatou que fora publicado apenas um ano antes, de modo que a lista era atual. Na quarta capa, examinou o mapa das áreas em que se haviam detectado depósitos ilegais de resíduos. As províncias de Vicenza e Verona eram as mais visadas, especialmente as regiões ao norte das duas cidades, já próximas do sopé dos Alpes.
Fechou o livro, guardando dentro dele as listas cuidadosamente dobradas. Não podia fazer nada enquanto não tivesse conversado com o pai do garoto, mas continuava atormentado pelo desejo de ir para lá imediatamente, mesmo sabendo que era um desejo insensato.
O telefone tocou: ligação interna.
Ele atendeu: “Brunetti”.
“Comissário”, disse a voz de Patta. “Desça ao meu gabinete.”
Por um momento fugaz, Brunetti desconfiou que o vice-questore havia grampeado seu telefone ou controlava as ligações e, portanto, sabia que ele continuava em contato com a base militar norte-americana. Era óbvio que nem mesmo as novas informações sobre as toxinas demoveriam aquele homem de seguir tentando abafar o caso. E quando soubesse que Brunetti suspeitava do envolvimento de uma instituição nobre a ponto de merecer o nome de “empresa”, ele não hesitaria em ameaçá-lo com uma advertência oficial se continuasse tentando descobrir o que tinha acontecido. Se nem mesmo os paladinos da lei levavam em conta os interesses empresariais, sem dúvida alguma, a república estava em sério perigo.
Brunetti desceu prontamente ao gabinete de Patta, bateu na porta e recebeu ordem de entrar. Encontrou o vice-questore com ar de quem acabava de chegar de um festival de cinema. No qual fora premiado. Enquanto o comissário se aproximava, Patta entretinha-se em encaixar um cigarro russo na piteira de ônix, tomando o cuidado de fazê-lo longe da escrivaninha da Renascença onde estava instalado, não fosse uma partícula de fumo cair e macular a reluzente perfeição do móvel. Como o cigarro oferecia resistência, deixou Brunetti esperando até que conseguisse encaixá-lo direitinho no aro dourado da piteira. “Comissário”, disse, acendendo o cigarro e dando uma tragada cautelosamente exploradora, talvez na tentativa de sentir o efeito do ouro, “eu recebi um telefonema muito desagradável.”
“Espero que não tenha sido da sua esposa, senhor.” Brunetti procurou imprimir docilidade à voz.
Patta pôs o cigarro na borda do cinzeiro de malaquita, mas teve de segurá-lo rapidamente, pois o peso da piteira fez com que este caísse na escrivaninha. Recolocou-o, desta vez com mais cuidado, equilibrando a extremidade da brasa com a do bocal em lados opostos do cinzeiro redondo. Porém bastou que retirasse a mão para que a força de gravidade puxasse a ponta da piteira para baixo, o cigarro escapasse e as duas coisas caíssem no fundo do cinzeiro — a piteira, com um melodioso tlintlim.
Brunetti uniu as mãos às costas e, olhando pela janela, oscilou o corpo nos calcanhares, para a frente e para trás. Quando voltou a olhar para a mesa, o cigarro estava apagado e a piteira havia desaparecido.
“Sente-se, comissário.”
“Obrigado, senhor”, disse ele com extrema polidez, sentando-se no seu lugar habitual diante da luxuosa escrivaninha.
“Eu recebi um telefonema”, retomou Patta. Calou-se para ver se o subordinado se atrevia a repetir a observação insolente, mas isso não aconteceu. “Um telefonema do signor Viscardi, de Milão.” Mais uma pausa; Brunetti continuou calado. “Ele me telefonou para dizer que você está pondo em dúvida sua honestidade.” Ante o silêncio do interlocutor, o vice-questore foi obrigado a explicar. “Contou-me que o agente de seguro dele recebeu um telefonema, um telefonema seu, diga-se de passagem, perguntando como ele soube tão depressa o que foi roubado no palazzo.” Mesmo que estivesse apaixonado pela mulher mais desejável do mundo, Patta não pronunciaria seu nome com mais adoração do que a que dedicou a esta última palavra. “Além disso, o signor Viscardi soube que Riccardo Fosco, um esquerdista notório”, observação que levou Brunetti a se perguntar o que significava aquilo num país em que o presidente da Câmara dos Deputados era comunista, “andou fazendo perguntas insinuantes sobre sua situação financeira.”
Calou-se à espera de uma contestação, mas foi inútil. “O signor Viscardi”, prosseguiu, mostrando com mais clareza quanto estava contrariado, “não deu essa informação espontaneamente; eu tive de lhe fazer perguntas muito específicas sobre o tratamento que recebeu aqui. Mas disse que o policial que o interrogou, o segundo, e eu não vejo motivo para que você tenha mandado dois, que esse policial deu a impressão de não acreditar nas suas palavras. É natural que o signor Viscardi, um homem de negócios respeitabilíssimo, além de membro e colega do Rotary International”, no caso, não foi necessário especificar de quem ele era colega, “tenha achado esse tratamento inaceitável, principalmente levando em conta que ele acabava de ser brutalizado nas mãos dos assaltantes que invadiram o palácio e roubaram quadros e jóias de enorme valor. Você está me ouvindo, Brunetti?”, perguntou subitamente.
“Ah, sim, senhor.”
“Então por que não diz nada?”
“Eu estou esperando para saber qual foi o telefonema desagradável.”
“Droga”, gritou Patta, dando um murro na mesa. “O telefonema desagradável foi esse. O signor Viscardi é um homem importante, tanto aqui quanto em Milão. Tem muita influência política, e eu não quero que ele ache ou diga que foi maltratado pela polícia desta cidade.”
“Eu não entendo como ele foi maltratado, senhor.”
“Você não entende nada, Brunetti”, disse o vice-questore entre dentes. “Telefona para o agente de seguro dele no próprio dia do assalto, parecendo desconfiar que há alguma coisa errada com a ocorrência. E dois policiais diferentes vão ao hospital interrogá-lo e mostrar-lhe o retrato de gente que não tem nada a ver com o crime.”
“Ele disse isso?”
“Disse, depois que nós conversamos um pouco e eu garanti que tinha confiança nele.”
“O que foi exatamente que ele disse sobre o retrato?”
“Que o segundo policial lhe mostrou a fotografia de um jovem delinqüente e pareceu duvidar quando ele disse que não o reconhecia.”
“Como ele sabia que a foto era de um delinqüente?”
“O quê?”
Brunetti repetiu: “Como ele podia saber que o retrato que lhe mostraram era de um delinqüente? Podia ser de qualquer um, do filho do policial, de quem fosse”.
“Comissário, que fotografia eles iam mostrar senão a de um delinqüente?” Brunetti não respondeu, e Patta tornou a suspirar com exasperação. “Você está sendo ridículo.” Brunetti ia dizer alguma coisa, mas o vice-questore não deixou. “E não tente defender os seus homens, sabendo que eles estão errados.” Ao ouvi-lo dizer que os homens errados eram “dele”, Brunetti imaginou como seria quando Patta e a esposa tentavam dividir a responsabilidade pelos fracassos e os sucessos dos filhos. “O ‘meu’ filho ganhou um prêmio na escola, ao passo que o ‘seu’ fez má-criação para a professora ou tirou zero na prova.”
“Você não tem nada a dizer?”, perguntou Patta, enfim.
“Ele não conseguiu descrever os homens que o assaltaram, mas sabia exatamente que quadros tinham sido roubados.”
Uma vez mais, a insistência de Brunetti não fez senão mostrar ao vice-questore a miséria de sua extração social. “Está na cara que você nunca conviveu com objetos preciosos, comissário. Quando uma pessoa passa anos com obras de arte de grande valor, e eu me refiro ao valor estético, não apenas ao preço de mercado”, sua voz parecia suplicar que ele fizesse um esforço de imaginação para compreender o conceito, “é claro que ela as reconhece como se fossem os próprios membros da família. De modo que, mesmo num momento fugaz, mesmo à mercê do estresse que o signor Viscardi enfrentou, ele reconheceria esses quadros tanto quanto reconheceria a própria esposa.” A julgar pelo que dissera Fosco, suspeitou Brunetti, Viscardi teria menos dificuldade para reconhecer os quadros.
Com ar paternal, o vice-questore se inclinou para a frente e perguntou: “Você consegue entender isso?”.
“Eu vou entender muito mais quando nós tivermos conversado com Ruffolo.”
“Ruffolo? Quem é ele?”
“O jovem delinqüente da fotografia.”
Patta apenas murmurou o nome de Brunetti, mas em voz tão baixa que se fez necessária uma explicação.
“Dois turistas, que estavam sentados numa ponte, viram três homens saindo da casa com uma mala. Ambos identificaram a foto de Ruffolo.”
Como não tinha se dado ao trabalho de ler o boletim de ocorrência, Patta não pôde perguntar por que não o informaram disso. “Ele podia estar escondido do lado de fora”, sugeriu.
“É perfeitamente possível”, concordou Brunetti, embora lhe parecesse mais provável que Ruffolo estivesse lá dentro, mas não para se esconder.
“E quanto a Fosco? Por que os telefonemas?”
“A única coisa que eu sei sobre Fosco é que ele é o editor financeiro de uma das revistas mais importantes do país. Eu lhe telefonei para ter uma idéia da importância do signor Viscardi. Para saber como tratá-lo.” Isso imitava com tanta precisão a mentalidade do vice-questore que ele não foi capaz de questionar a sinceridade do subordinado. Achando desnecessário apresentar uma desculpa para a seriedade com que os policiais haviam interrogado Viscardi, Brunetti preferiu dizer: “Assim que a gente puser as mãos em Ruffolo, fica tudo resolvido. O signor Viscardi recebe os quadros de volta, a companhia de seguros fica muito agradecida e imagino que Il Gazzettino vai publicar uma reportagem na primeira página do segundo caderno. Afinal de contas, o signor Viscardi é um homem importantíssimo, e, quanto mais depressa isso for solucionado, melhor para nós”. De súbito, Brunetti sentiu asco de ter de fazer aquilo, de se sujeitar a um papel tão idiota toda vez que conversava com o chefe. Desviou a vista, mas logo tornou a olhar para o vice-questore.
Patta abriu um sorriso tão largo quanto sincero. Seria possível que Brunetti estivesse finalmente começando a criar juízo, a ter certa noção da realidade política? Se assim fosse, não seria injusto creditar semelhante progresso a ele, Patta. Como os venezianos eram impetuosos, que gente cabeça-dura, que gente antiquada! Ainda bem que o haviam nomeado vice-questore para lhes mostrar o mundo mais amplo, mais moderno, o mundo de amanhã. Brunetti tinha razão. Bastava encontrar esse tal Ruffolo, recuperar os quadros, e ele passaria a contar com todo o apoio de Viscardi.
“Muito bem”, disse em tom decidido, imitando os policiais dos filmes americanos, “avise-me assim que Ruffolo for capturado. Você precisa de mais homens trabalhando nisso?”
Brunetti refletiu um pouco antes de responder: “Não, senhor. Acho que os que temos bastam. É só uma questão de esperar que ele dê um passo em falso. Coisa que não demora”.
Patta não tinha o menor interesse em saber se era questão disso ou daquilo. Só queria uma prisão, a devolução dos quadros e o apoio de Viscardi caso ele decidisse se candidatar a vereador. “Ótimo, comissário, avise-me quando tiver alguma coisa”, disse, dispensando-o não com palavras, mas com o tom de voz. Pegou outro cigarro. Sem a menor vontade de esperar e assistir à cerimônia, Brunetti pediu licença, saiu e foi conversar com Vianello.
“Alguma notícia de Ruffolo?”, perguntou, ao entrar no escritório central.
“Sim e não”, respondeu o policial, fazendo menção de se levantar em sinal de respeito ao superior, mas logo voltando a se acomodar na cadeira.
“Como assim?”
“Parece que ele está disposto a conversar.”
“Quem disse?”
“Uma pessoa que conhece uma pessoa que o conhece.”
“E quem falou com essa pessoa?”
“Eu. É um daqueles garotos de Burano, sabe? Os que roubaram o barco de pesca no ano passado. Como nós livramos a cara dele, eu achei que podia cobrar o favor, por isso ontem fui até lá bater um papo. Lembrei que esse cara foi colega de classe de Ruffolo. E ele me telefonou há mais ou menos uma hora. Não perguntou nada. Só disse que a tal outra pessoa falou com não sei quem que esteve com Ruffolo e diz que ele quer conversar com a gente.”
“Com quem?”
“Com o senhor não há de ser, imagino. Afinal, o senhor o tirou de circulação duas vezes.”
“Você topa fazer isso, Vianello?”
O policial deu de ombros. “Como não? Só espero que não dê muito trabalho. Ele passou os últimos dois anos na cadeia, sem ter o que fazer, a não ser assistir a filmes americanos, não é difícil que proponha um encontro à meia-noite, num barco em plena laguna.”
“Ou no cemitério ao amanhecer, na hora em que os vampiros voltam para o ninho.”
“Prefiro que seja num bar, pelo menos é mais confortável e a gente pode tomar um vinho.”
“Bom, vá se encontrar com ele, seja onde for.”
“Devo prendê-lo quando ele aparecer?”
“Não, nem pense nisso. Só pergunte o que ele tem para nos contar, veja que tipo de barganha quer fazer.”
“E mando alguém segui-lo?”
“Não. É provável que Ruffolo esteja contando com isso. E vai entrar em pânico se perceber que o estão seguindo. Veja o que ele quer. Se não for demais, negocie.”
“O senhor acha que ele vai nos contar alguma coisa sobre Viscardi?”
“Que outro motivo ele teria para querer conversar com a gente?”
“Nenhum, acho que nenhum.”
Vendo que o superior ia sair, Vianello perguntou: “E quanto ao acordo que eu fizer com ele? Vamos cumprir a nossa parte?”.
Ao ouvir isso, Brunetti o encarou demoradamente. “Claro que vamos. Se os criminosos não acreditarem num trato ilegal com a polícia, em que você quer que eles acreditem?”
19
Naquela tarde, nem Ambrogiani ligou nem Vianello conseguiu entrar em contato com o rapaz de Burano. Nenhum telefonema na manhã seguinte e tampouco no começo da tarde, quando Brunetti retornou do almoço. Por volta das cinco horas, Vianello foi lhe contar que o rapaz havia telefonado, marcando encontro sábado à tarde na Piazzale Roma. O policial devia ir à paisana. Um carro estaria à espera e o levaria ao lugar onde Ruffolo o aguardava para conversar. Tendo explicado isso ao superior, Vianello sorriu e acrescentou: “Hollywood”.
“Provavelmente, isso significa que eles vão roubar um carro para ir buscá-lo.”
“E que eu não vou ter a menor chance de tomar um trago”, disse o outro com resignação.
“Pena que o Bar Pullman fechou; pelo menos você podia tomar um antes do encontro.”
“Nem isso seria possível. Mandaram-me ficar esperando no ponto do ônibus número cinco. Eles param lá e eu entro.”
“Como vão reconhecê-lo?”
Seria impressão ou Vianello corara? “Pelo buquê. Eu vou levar um buquê de cravos vermelhos.”
Brunetti não pôde evitar a gargalhada. “Cravos vermelhos? Você? Santo Deus, tomara que nenhum conhecido o veja no ponto de ônibus: viajando com um buquê de cravos vermelhos.”
“Minha mulher não gostou quando soube dessa história, principalmente porque é sábado à tarde. A gente tinha combinado de ir jantar fora, e ela vai passar meses me atormentando por causa disso.”
“Vamos fazer um trato, Vianello. Vá. Nós pagamos os cravos, mas eu preciso da nota fiscal. E você fica de folga na sexta e no sábado seguintes, está bem?” Era o mínimo que ele podia fazer por um homem disposto a arriscar cair nas mãos de criminosos conhecidos e, mais corajosamente ainda, correndo o risco de enfurecer a esposa.
“Tudo bem, senhor, mas eu não estou gostando disso.”
“Olhe, Vianello, você não é obrigado a ir. Mais cedo ou mais tarde a gente pega esse cara.”
“Pode deixar, senhor. Ele nunca foi idiota a ponto de fazer alguma coisa com um de nós. E eu já o conheço.”
Brunetti se lembrou de que o subordinado tinha dois filhos e um terceiro a caminho. “Se der certo, você vai ser recompensado. Eu dou um jeito de conseguir uma promoção.”
“Seria bom, mas o que ele vai achar?” Vianello baixou os olhos na direção do gabinete do vice-questore. “Principalmente se a gente prender o amiguinho dele, o signor Viscardi Figurão?”
“Ora, você sabe muito bem o que ele vai fazer. Quando Viscardi estiver atrás das grades e se o caso parecer promissor, Patta vai sair proclamando por aí que sempre suspeitou de Viscardi e que só o tratou bem para que caísse na armadilha que ele mesmo armou.” Os dois sabiam, por longa experiência, que era verdade.
O telefone de Vianello tocou, interrompendo as especulações sobre o comportamento do vice-questore. Ele atendeu, ouviu durante algum tempo e entregou o aparelho a Brunetti. “É para o senhor.”
“Alô”, disse Brunetti, entusiasmando-se ao reconhecer a voz de Ambrogiani.
“Ele continua morando aqui. Um dos meus homens o seguiu até a casa dele; fica em Grisignano, a uns vinte minutos da base.”
“O trem pára lá, não?”
“Só o local. Quando você quer falar com ele?”
“Amanhã cedo.”
“Espere um pouco, vou consultar o horário.” Enquanto aguardava, Brunetti ouviu-o pôr o fone na mesa e folhear algum catálogo. “Há um que sai de Veneza às oito; chega a Grisignano às oito e quarenta e três.”
“E antes disso?”
“Às seis e vinte e quatro.”
“Você tem alguém que possa ir me buscar nesse horário?”
“Guido, esse trem chega às sete e meia”, disse o maggiore com voz quase suplicante.
“Preciso pegar esse sujeito em casa e não quero que saia antes que eu tenha oportunidade de falar com ele.”
“Guido, você não pode ir entrando assim na casa dos outros às sete e meia da manhã, mesmo que seja a de um americano.”
“Se você me der o endereço, talvez eu consiga um carro.” Brunetti disse isso sabendo que era impossível; toda solicitação de veículo passava necessariamente por Patta, coisa que só servia para criar problemas.
“Você é um sujeitinho teimoso, hem?”, disse Ambrogiani, se bem que com mais respeito do que irritação na voz. “Tudo bem, eu mesmo vou buscá-lo. Vou com o meu carro, assim a gente pode estacionar perto da casa dele sem assustar o bairro inteiro com a nossa presença.” Brunetti, para quem os automóveis eram coisas esquisitíssimas, não tinha pensado nisso: um carro ostensivamente pertencente aos carabinieri ou à polícia só podia causar celeuma num bairro tranqüilo.
“Obrigado, Giancarlo. É um grande favor.”
“Claro que é. Num sábado às sete e meia da manhã”, disse o outro com incredulidade, e desligou o telefone sem lhe dar tempo para responder. Fosse como fosse, pelo menos ele não teria de levar uma dúzia de cravos vermelhos.
Na manhã seguinte, conseguiu chegar à estação a tempo de tomar um café antes de viajar, de modo que não estava tão intratável quando se encontrou com o carabiniere na pequena estação de Grisignano. Este se mostrou surpreendentemente lépido e animado, como se já estivesse acordado havia horas, coisa que Brunetti, com seu mau humor, achou meio irritante. Entraram num bar em frente à estação, e cada qual pediu um brioche e um café, sendo que o maggiore fez um sinal para que o copeiro acrescentasse um pouco de grapa ao seu. “Não é longe”, disse. “A poucos quilômetros daqui. Eles moram numa casa geminada. Na outra mora o proprietário, com a família.” Vendo o olhar intrigado de Brunetti, compreendeu que era preciso explicar. “Eu mandei um homem vir aqui fazer algumas perguntas. Nada especial. Três filhos. Moram lá há mais de três anos, pagam o aluguel pontualmente, se dão bem com o senhorio. A mulher dele é italiana, o que facilita as coisas no bairro.”
“E o menino?”
“Está aqui, já voltou da Alemanha.”
“E como ele está?”
“Começou a escola em setembro. Parece bem, mas um dos vizinhos diz que tem uma cicatriz feia no braço. Como de queimadura.”
Brunetti terminou o café, pôs a xícara no balcão e disse: “Vamos para lá. No caminho, eu lhe conto o que sei”.
Enquanto percorriam as ruas silenciosas e as alamedas orladas de árvores, ele informou Ambrogiani do que descobrira nos livros e falou na cópia xerox da ficha de Daniel Kayman e no artigo publicado na revista médica.
“Pelo jeito, ela ou Foster ficou sabendo. Mas isso não explica por que os mataram”, disse o carabiniere.
“Você também acha que eles foram assassinados?”
Ambrogiani tirou os olhos da estrada e os fitou em Brunetti.
“Eu nunca acreditei que Foster tivesse morrido num assalto, e não acredito nessa história de overdose. Por mais que tenham caprichado para fazer com que parecesse assalto e overdose.”
O maggiore entrou numa rua ainda mais estreita e estacionou a cem metros de uma casa branca de alvenaria, bem recuada da calçada e protegida por uma cerca metálica. A porta da casa geminada dava para um alpendre construído sobre os portões de duas garagens idênticas. Na entrada de automóveis, duas bicicletas estavam jogadas lado a lado, ambas no completo abandono de que só as bicicletas eram capazes.
“O que mais você sabe sobre esses produtos químicos?”, perguntou o carabiniere, desligando o motor. “Eu tentei descobrir alguma coisa ontem à noite, mas ninguém foi capaz de dizer nada preciso sobre eles, a não ser que são perigosos.”
“Não sei se eu descobri muito mais do que isso com a minha leitura”, admitiu Brunetti. “Há todo um espectro deles, um verdadeiro coquetel mortífero. São fáceis de produzir, e parece que a maioria das fábricas os utiliza ou os cria no próprio processo de produção, mas o problema é livrar-se deles. Antes era possível depositá-los em qualquer lugar, mas agora é mais complicado. Muita gente já se queixou de tê-los encontrado no quintal.”
“Há alguns anos, os jornais não andaram falando num navio, o Karen B ou coisa que o valha, que foi para a África, teve de voltar e acabou indo parar em Gênova?”
Brunetti se lembrou imediatamente das manchetes sobre o “Navio do Veneno”, um cargueiro que pretendia deixar sua carga num porto africano, mas não foi autorizado a atracar. Então passou semanas navegando pelo Mediterrâneo, a imprensa tão interessada nele quanto nas tartarugas malucas que de dois em dois anos tentavam subir o Tibre. Por fim, o Karen B aportou em Gênova, e a história acabou. Com a mesma eficiência com que desaparecera nas águas do Mediterrâneo, o Karen B sumiu das páginas dos jornais e das telas da tv. E a carga venenosa que transportava, uma quantidade enorme de substâncias letais, também sumiu por completo, sem que ninguém soubesse nem quisesse saber como. Nem onde.
“Sim, mas eu não lembro que substância era.”
“Nós nunca tivemos um caso desses aqui”, disse Ambrogiani, achando desnecessário esclarecer que “nós” significava os carabinieri e que “um caso desses” era deposição ilegal. “Nem sei se nos cabe procurá-los ou prender por causa disso.”
Seguiu-se um pensativo silêncio que nenhum dos dois queria ser o primeiro a romper. Enfim, Brunetti comentou: “Interessante, não?”.
“Que ninguém se sinta responsável pelo cumprimento da lei? Se é que há uma lei.”
“Há.”
A conversa cessou quando a porta da casa que eles estavam observando se abriu. Um homem saiu, desceu os degraus do alpendre e, depois de abrir a garagem, foi tirar as bicicletas do caminho. Quando ele voltou a entrar na garagem, Brunetti e Ambrogiani saíram do carro e foram para lá. Aproximaram-se bem no momento em que um automóvel começava a sair lentamente da garagem.
Chegando ao portão, o homem desceu e, deixando a porta aberta e o motor ligado, foi abri-lo. Ou não viu os dois homens na calçada, ou não fez caso deles. Tendo destrancado e aberto o portão, voltou para o carro.
“Sargento Kayman?”, gritou Brunetti por cima do ruído do motor.
Ao ouvir o próprio nome, o homem olhou para eles. Os policiais avançaram alguns passos, mas tiveram o cuidado de não ultrapassar o limite da propriedade sem serem convidados. Vendo isso, o homem fez sinal para que entrassem e, inclinando-se, enfiou a metade do corpo no automóvel e desligou o motor.
Era alto e loiro, tinha as costas ligeiramente curvadas, coisa que outrora devia ter servido para disfarçar a estatura, mas acabara se tornando habitual. Veio com o andar solto e relaxado dos americanos, aquela ginga que ficava tão bem neles quando estavam de roupa esporte e os tornava desengonçadíssimos de terno e gravata. Acercou-se de cabeça erguida, ar intrigado, sem sorrir, mas também sem desconfiança.
“Pois não”, disse em inglês. “Vocês querem falar comigo?”
“O senhor é o sargento Edward Kayman?”, perguntou Ambrogiani.
“Sou. Do que se trata? É meio cedo, não?”
Brunetti se adiantou para cumprimentá-lo. “Bom dia, sargento. Eu sou Guido Brunetti, da polícia de Veneza.”
O aperto de mão do militar era forte e firme. “Veio de longe, hem, senhor Brunetti?”, observou, transformando as duas últimas consoantes em um “d”.
Brunetti sorriu. “É verdade. É que eu queria lhe fazer umas perguntas, sargento.” O maggiore sorriu e o saudou com um gesto, mas, preferindo não se apresentar, deixou a conversa para Brunetti.
“Pois pergunte”, disse o sargento. “Desculpem não convidá-los a entrar e tomar um café”, acrescentou, “minha mulher está dormindo e é capaz de me matar se eu acordar as crianças. O sábado é o único dia em que ela pode dormir até tarde.”
“Eu entendo. Lá em casa também é assim. Hoje eu tive de sair na ponta dos pés, feito um ladrão.” Os dois riram da dorminhoca tirania das mulheres. “Queria lhe fazer umas perguntas sobre seu filho.”
“Daniel?”
“Exatamente.”
“Já imaginava.”
“Quer dizer que isto não o surpreende?”
Antes de responder, o americano se afastou e, encostando-se, depositou todo o peso do corpo no carro. Brunetti aproveitou para falar com Ambrogiani em italiano: “Você está entendendo a nossa conversa?”. O carabiniere fez que sim.
Kayman cruzou os pés nos tornozelos e tirou um maço de cigarros do bolso da camisa. Ofereceu-os aos italianos, mas ambos recusaram. Embora não estivesse ventando, tomou o cuidado de proteger a chama do isqueiro com as duas mãos ao acender o cigarro. Tornou a guardar o maço e o isqueiro.
“É o problema com a médica, não?”, perguntou, inclinando a cabeça para trás e soltando a fumaça no ar.
“O que o leva a dizer isso, sargento?”
“Não é preciso ser adivinho. Ela era médica de Danny e ficou furiosa quando o braço dele piorou. Não parava de perguntar o que tinha acontecido, e depois veio o namorado dela, o que foi assassinado em Veneza, e também me crivou de perguntas.”
“O senhor já sabia que eles eram namorados?”, surpreendeu-se Brunetti.
“Bom, as pessoas só começaram a falar nisso depois que ele morreu, mas eu desconfio que muita gente sabia. Eu não, mas não trabalhava com eles. Afinal de contas, nós somos apenas alguns milhares, todos morando e trabalhando no mesmo lugar. Ninguém consegue fazer segredo, pelo menos não durante muito tempo.”
“O que ela queria saber?”
“Onde Danny esteve aquele dia. O que mais nós vimos por lá. Coisas assim.”
“O que o senhor respondeu?”
“Que não sabia.”
“O senhor não sabia?”
“Bom, exatamente não. Nós passamos o dia na região de Aviano, perto do lago Barcis, mas paramos em outro lugar quando estávamos voltando das montanhas; foi lá que fizemos o piquenique. Danny foi passear sozinho no bosque, mas não se lembrava do lugar onde caiu, do lugar exato. Foi o que eu disse a Foster, tentei explicar mais ou menos onde era, mas não conseguia lembrar precisamente onde estacionamos aquele dia. Quem tem três crianças e uma cachorra para vigiar não presta atenção nessas coisas.”
“Como ele reagiu quando o senhor disse que não se lembrava?”
“Ah, insistiu em que eu voltasse para lá com ele, queria fazer o mesmo percurso num sábado, procurando o lugar, tentando descobrir onde a gente havia estacionado.”
“E o senhor foi?”
“De jeito nenhum. Eu tenho mulher, três filhos e, com um pouco de sorte, um dia livre por semana. Não ia desperdiçar um sábado zanzando nas montanhas à procura do lugar onde fiz piquenique. Mesmo porque isso aconteceu justamente quando Danny estava internado, e eu não ia largar a minha mulher o dia inteiro sozinha para ficar rodando por aí.”
“O que Foster fez quando o senhor disse que não ia?”
“Bom, deu para ver que não gostou, ficou bravo, mas eu disse que não podia fazer uma coisa dessas, e ele se acalmou. Parou de me pedir para acompanhá-lo, mas acho que acabou indo para lá, não sei se sozinho ou com a doutora Peters.”
“Por que o senhor acha isso?”
“É que Foster falou com um amigo meu, que é técnico em radiologia na clínica odontológica, e ele me contou. Numa sexta-feira à tarde, entrou no laboratório e lhe pediu o cartão emprestado.”
“Pediu o quê?”
“O cartão. Pelo menos é o nome que eles dão. Sabe, aquele cartãozinho que o pessoal que trabalha com raio X tem de usar? Quando a pessoa recebe muita radiação, ele muda de cor. Não sei como se chama.” Brunetti fez que sim, sabia do que se tratava. “Bom”, prosseguiu o sargento, “o cara o emprestou, Foster passou o fim de semana com ele e, na segunda-feira de manhã, devolveu-o antes do começo do expediente. Cumpriu a palavra.”
“E o sensor?”
“Não mudou. Estava com a mesma cor.”
“Por que o senhor acha que ele o pediu emprestado?”
“O senhor não o conhecia, né?”, perguntou Kayman. Brunetti sacudiu a cabeça. “Ele era um cara engraçado. Muito sério. Muito caxias no trabalho, aliás, caxias em tudo. Parece que também era muito religioso, mas não como esses malucos renascidos. Quando cismava que o certo era fazer determinada coisa, não havia quem o impedisse. E pôs na cabeça que...”, o americano se interrompeu. “Sei lá o que ele pôs na cabeça, mas queria descobrir onde foi que Danny entrou em contato com a substância a que é alérgico.”
“Foi esse o problema, então? Alergia?”
“Foi o que disseram quando ele voltou da Alemanha. Estava com o braço em pandarecos, mas os médicos garantem que vai sarar. Pode ser que demore um ano ou mais, mas a cicatriz vai desaparecer ou, pelo menos, diminuir muito.”
Ambrogiani interveio pela primeira vez: “Eles lhe contaram a que o menino é alérgico?”.
“Não, não conseguiram descobrir. Segundo eles, é provável que seja à seiva de alguma árvore que dá naquelas montanhas. Fizeram todo tipo de teste.” Sua expressão se enterneceu, e os olhos brilharam de orgulho. “E ele nunca se queixou, nem uma vez, esse garoto. É um homenzinho de verdade. Eu me orgulho muito dele.”
“Quer dizer que não lhe contaram a que ele é alérgico?”, insistiu o carabiniere.
“Não. Ainda por cima, aqueles palhaços perderam a ficha médica de Danny, pelo menos a ficha da Alemanha.”
Ao ouvir isso, os dois italianos se entreolharam. Brunetti perguntou: “O senhor sabe se Foster chegou a achar o lugar?”.
“Não sei dizer. Ele morreu quinze dias depois de tomar aquele negócio emprestado, o tal sensor, e eu não tive oportunidade de perguntar. De modo que não sei. É uma pena que isso tenha acontecido. Foster era um cara legal, e também é uma pena que a namorada médica dele tenha feito o que fez. Eu não sabia que eles eram tão...”, sem achar as palavras adequadas, o sargento se interrompeu.
“É nisso que as pessoas aqui acreditam, que a doutora Peters tomou uma overdose por causa de Foster?”
Dessa vez foi o americano que se surpreendeu. “É a única coisa que tem sentido, não acham? Ela era médica, não era? Sabia perfeitamente que quantidade de droga devia pôr na seringa.”
“Sim, acho que sim”, concordou Brunetti, sentindo-se desleal pelo que estava dizendo.
“Mas é gozado”, disse o americano. “Se eu não estivesse tão preocupado com Danny, talvez tivesse me ocorrido uma coisa que ajudaria Foster a achar o lugar.”
“O quê?”, perguntou Brunetti com toda a naturalidade.
“Naquele dia, quando a gente estava fazendo piquenique, eu vi dois caminhões, que costumam vir aqui, entrarem numa estrada de terra lá no morro, um pouco abaixo do lugar onde a gente estava. Isso nem me passou pela cabeça quando Foster me perguntou. É uma pena eu não ter me lembrado. Talvez tivesse lhe poupado muita dor de cabeça. Para encontrar o lugar, bastava perguntar ao senhor Gamberetto onde os caminhões estavam aquele dia.”
“Ao senhor Gamberetto?”
“É, o cara que tem o contrato de coleta do lixo do posto. Os caminhões dele vão lá duas vezes por semana e levam o material perigoso. Sabe, o lixo hospitalar e da clínica odontológica. Acho que também recolhem o material da nossa frota. O óleo que tiram dos transformadores e dos veículos. Os caminhões não têm logotipo nem nada, mas todos possuem uma faixa vermelha na lateral, e foram eles que eu vi no lago Barcis aquele dia.” Fez uma pausa para refletir. “Não sei por que não pensei nisso no dia em que Foster me perguntou. É que Danny tinha acabado de embarcar para a Alemanha, sei lá onde eu estava com a cabeça.”
“O senhor trabalha no departamento de contratação, não, sargento?”, perguntou o maggiore.
Se o sargento achou estranho que o italiano soubesse disso, não o demonstrou. “Sim, trabalho.”
“Já teve oportunidade de falar com o senhor Gamberetto?”
“Não. Nunca. Sei o nome dele porque vi o contrato no escritório.”
“Ele não vai lá para assinar o contrato?”
“Não, um oficial vai ao escritório dele. Imagino que fatura um almoço na conta dele e volta com o contrato assinado, e nós o processamos.” Brunetti não precisou olhar para Ambrogiani para saber que ele também estava pensando que alguém recebia de Gamberetto muito mais do que um almoço.
“Esse é o único contrato que Gamberetto tem com vocês?”
“Não, senhor. Ele conseguiu o contrato da construção do hospital novo. Já devia ter começado, mas, com a Guerra do Golfo, todos os projetos de construção foram suspensos. Em todo caso, parece que as coisas vão voltar a andar, e acho que a obra deve começar na primavera, assim que o terreno estiver pronto.”
“É um contrato grande?”, perguntou Brunetti. “Imagino que seja: um hospital.”
“Não me lembro dos valores exatos, já faz tempo que a gente trabalhou nesse contrato, mas acho que é alguma coisa próxima dos dez milhões de dólares. Se bem que isso foi há três anos, quando ele foi assinado. É provável que tenha aumentado bastante de lá para cá.”
“É, eu também acho.” De súbito, os três ouviram ansiosos latidos na casa e se voltaram para lá. Abriu-se uma fresta na porta, e uma enorme cadela preta saiu em disparada, desceu os degraus e, latindo como louca, precipitou-se sobre Kayman e se pôs a saltar, lambendo-lhe o rosto. Virou-se para os desconhecidos e os farejou rapidamente. A seguir, afastou-se correndo, escolheu um lugar no gramado, agachou-se e esvaziou a bexiga. Uma vez resolvido esse problema, voltou para junto do dono, saltando sem parar, procurando tocar-lhe o nariz com o focinho.
“Fique quieta, Kitty Kat”, disse ele sem nenhuma firmeza na voz. A cadela continuou saltando até conseguir o que queria. “Agora desça, garota. Pare com isso.” Indiferente à ordem, ela se afastou para ganhar impulso e tornou a arremeter contra o dono. “Cachorra mal-educada”, disse ele num tom que significava exatamente o contrário. Segurando o animal com as duas mãos, obrigou-o a descer e, agarrando-lhe o pêlo do pescoço, começou a acariciá-la rudemente. “Desculpem. Eu pretendia sair sem ela. Quando me vê entrar no carro, fica louca para ir junto. Ela adora passear de carro.”
“Não vou retê-lo mais, sargento. O senhor foi muito solícito”, disse Brunetti, oferecendo-lhe a mão. A cadela acompanhou esse movimento com os olhos, a língua pendendo do lado esquerdo da boca. Kayman estendeu a mão direita e o cumprimentou, mas o fez desajeitadamente, ainda curvado e segurando a cachorra com a outra. Despediu-se também de Ambrogiani e, quando os dois se afastaram, abriu a porta do carro e deixou o animal entrar à frente dele.
Brunetti ficou esperando do lado de fora e, quando o automóvel saiu de ré, acenou para o sargento Kayman, indicando que fecharia o portão. O americano esperou para se certificar de que estava bem fechado, engatou a primeira e partiu lentamente. A última coisa que eles viram foi a cadela pondo a cabeça para fora da janela traseira e com o focinho a arder no vento.
20
Quando a cabeça da cadela desapareceu no fim da rua, Ambrogiani olhou para Brunetti e perguntou: “O que você achou?”.
Os dois foram para o carro, entraram, fecharam as portas, mas ele não ligou o motor.
“Um negócio da China, construir um hospital”, disse Brunetti enfim. “Um negócio da China para o signor Gamberetto.”
“Sem dúvida.”
“Você já ouviu falar nele?”
“Já, sim”, respondeu o maggiore. “A ordem é ficar longe dele.”
Reparou na expressão intrigada do outro. “Bom, não chega a ser uma ordem explícita, aliás, esse tipo de coisa nunca é, mas o recado que veio lá de cima é para ninguém se meter com o signor Gamberetto nem com os negócios dele.”
“Do contrário?”
O carabiniere sorriu com amargura. “Ah, os recados não são tão diretos assim. Chegam simplesmente como sugestão, e quem tem um pouco de juízo entende.”
“E não se mete com o signor Gamberetto?”
“Exatamente.”
“Interessante”, comentou Brunetti.
“Muito.”
“E você o trata como um simples empresário com negócios aqui na região?”
Ambrogiani confirmou com um gesto.
“E parece que também no lago Barcis.”
“É, parece.”
“Será que você consegue descobrir alguma coisa sobre esse cara?”
“Bom, eu posso tentar.”
“E isso quer dizer...?”
“Quer dizer que, se Gamberetto for um peixe médio, pode ser que eu descubra alguma coisa. Mas, se for dos grandes, não há o que descobrir. Ou então a única coisa que vou descobrir é que ele é um respeitável empresário local, bem relacionado politicamente. E isso só serve para confirmar o que a gente já sabe, que ele tem amigos lá em cima.”
“A máfia?”
O carabiniere respondeu com um mero dar de ombros.
“Até aqui no Norte?”
“Por que não? Para algum lugar eles tinham de ir. No Sul, a única coisa que fazem é matar uns aos outros. Quantos assassinatos houve lá desde o começo do ano? Duzentos? Duzentos e cinqüenta? Por isso começaram a vir para cá.”
“O governo?”
O maggiore soltou o bufo especial de repulsa que os italianos reservavam exclusivamente para o governo. “Que diferença há entre a máfia e o governo hoje em dia?”
Era uma visão bem mais implacável que a de Brunetti, mas, por serem uma rede de âmbito nacional, talvez os carabinieri tivessem acesso a mais informação do que ele.
“E você?”, perguntou Ambrogiani.
“Posso dar uns telefonemas quando voltar. Cobrar alguns favores.” Ele não mencionou o telefonema em que estava pensando, que nada tinha a ver com cobrança de favores; muito pelo contrário.
Ficaram um bom tempo no carro parado. Por fim, o carabiniere se inclinou e abriu o porta-luvas. Vasculhou a pilha de mapas que havia lá dentro até achar o que lhe interessava. “Você tem tempo?”, perguntou.
“Tenho. Demora muito para chegar lá?”
Em vez de responder, o maggiore abriu o mapa e, apoiando o braço no volante, estendeu-o diante de Brunetti. Percorreu-o com o dedo até encontrar o que procurava. “Aqui. O lago Barcis.” Depois de traçar uma linha sinuosa à direita, no lago, desceu bruscamente numa reta que parava em Pordenone. “Uma hora e meia. Talvez duas. A maior parte do caminho é autostrada. O que você acha?”
À guisa de resposta, Brunetti se virou, puxou o cinto de segurança e o prendeu no lugar, entre os dois bancos.
Duas horas depois, estavam subindo a tortuosa estrada do lago Barcis, na companhia de pelo menos vinte automóveis enfileirados atrás de um imenso caminhão cheio de pedregulho que se arrastava a dez quilômetros por hora, obrigando Ambrogiani a mudar constantemente de segunda para primeira e a parar para que o pesado veículo fizesse as curvas. De vez em quando, um carro os ultrapassava pela esquerda e logo dava um jeito de se meter entre dois outros presos atrás do caminhão, abrindo caminho com a buzina. Ocasionalmente, um veículo se colocava bruscamente à direita, à procura de um lugar onde estacionar no estreito acostamento. O motorista saía, abria o capô e, às vezes, cometia o erro de tirar a tampa do radiador.
Brunetti pensou em propor que parassem, já que não tinham pressa nem destino certo, porém, mesmo não sendo um verdadeiro motorista, percebeu que era melhor não dizer ao outro o que fazer. Só uns vinte minutos depois o caminhão saiu da estrada e entrou num longo estacionamento, sem dúvida destinado a esse fim, e os carros puderam passar, alguns agradecendo com um aceno, outros não. Dez minutos depois, eles entraram no vilarejo de Barcis; Ambrogiani dobrou à esquerda e seguiu pela íngreme estradinha do lago.
Saiu do carro com esforço, obviamente irritado com a viagem. “Vamos tomar alguma coisa”, disse, dirigindo-se a um café que ocupava uma enorme varanda atrás de um dos prédios à beira do lago. Aproximou-se de uma mesa com guarda-sol, puxou uma cadeira e nela se deixou cair. Diante deles, estendia-se o lago, a água extraordinariamente azul, as montanhas a se elevar do outro lado. O garçom anotou os pedidos e logo retornou com dois cafés e dois copos de água mineral.
Terminando o café, Brunetti tomou um gole de água e perguntou: “E agora?”.
O maggiore sorriu. “Bonito lago, não?”
“É, muito bonito. E nós? Vamos fazer turismo?”
“Acho que sim. Pena que não podemos passar o dia aqui, olhando para o lago, não acha?”
Brunetti ficou desconcertado por não saber se o outro estava falando a sério ou não. Mas, sem dúvida, seria agradável. Surpreendeu-se desejando que os dois jovens americanos tivessem podido passar o fim de semana ali, independentemente do motivo da viagem. Era um belo lugar para um casal apaixonado. Editando-se a si mesmo, reformulou o pensamento: qualquer lugar era belo para um casal apaixonado.
Ele pediu a conta e pagou. Durante a viagem, tinham decidido não chamar a atenção fazendo perguntas sobre caminhões com uma faixa vermelha na lateral que porventura transitassem nas estradas secundárias. Eram turistas, mesmo estando de terno e gravata, e os turistas naturalmente tinham o direito de parar num espaço para piquenique e ficar contemplando as montanhas enquanto o tráfego passava por eles. Como não sabia quanto tempo a excursão ia durar, Brunetti foi até o balcão e pediu que preparassem alguns sanduíches para viagem. O melhor que havia era de presunto e queijo. Ambrogiani concordou, mandou fazer quatro e acrescentar uma garrafa de vinho e dois copos de plástico.
Abastecidos, os dois voltaram para o carro e iniciaram o trajeto de volta a Pordenone. A cerca de dois quilômetros de Barcis, avistaram um amplo estacionamento à direita e foram para lá. O maggiore posicionou o automóvel de modo que pudessem ver a estrada, não as montanhas, desligou o motor e disse: “Chegamos”.
“Não fui eu que tive a idéia de passar o sábado assim”, defendeu-se Brunetti.
“Já tive piores”, disse Ambrogiani, e se pôs a falar na ocasião em que, tendo sido destacado para procurar uma vítima de seqüestro em Aspromonte, fora obrigado a passar três dias nas montanhas, deitado no chão, observando de binóculo as pessoas que entravam e saíam de uma cabana de pastor.
“E aí?”
“Ah, nós os pegamos.” O carabiniere riu. “Mas a vítima era outra, uma menina, não o garoto que estávamos procurando. A família dela nem chegou a procurar a polícia, não quis saber de dar parte. Estava disposta a pagar o resgate, só que nós chegamos antes que ela tivesse pagado uma lira.”
“O que aconteceu com o outro? Com o que vocês estavam procurando?”
“Eles o mataram. Uma semana depois que encontramos a menina. Cortaram a garganta dele. Nós o localizamos pelo cheiro. E pelos urubus.”
“Por que o mataram?”
“Provavelmente porque nós encontramos a menina. Quando fomos devolvê-la à família, pedimos que não contassem nada a ninguém. Mas a imprensa acabou sabendo, e aquilo virou notícia de primeira página. Você sabe, ‘Refém Libertada’ e tudo mais, fotografias dela com a mãe, comendo o primeiro prato de macarrão em dois meses. Os bandidos devem ter lido e imaginado que nós estávamos atrás deles, chegando perto. E o mataram.”
“Por que não o soltaram?”, perguntou Brunetti. “Que idade ele tinha?”
“Doze.” Seguiu-se uma prolongada pausa, e só então o maggiore se dispôs a responder a primeira pergunta. “Não era bom negócio soltá-lo. Seria dizer para as outras vítimas que, se nós chegássemos perto, elas tinham uma chance. Matando-o, eles deram um recado claro: a coisa é séria, se não pagarem, nós matamos.”
Abriu a garrafa de vinho e encheu os dois copos de plástico. Então, por falta do que fazer, cada um comeu um sanduíche. Durante todo esse tempo, Brunetti evitou olhar para o relógio, sabendo que quanto mais esperasse, mais tarde ficaria. Mas, incapaz de resistir, consultou-o. Meio-dia. As horas se arrastavam. Ele abriu a janela e ficou muito tempo olhando para as montanhas. Quando tornou a se virar, deu com Ambrogiani cochilando, a cabeça inclinada para a esquerda, encostada no vidro. Brunetti ficou observando o trânsito na ladeira íngreme. Para ele, todos os carros eram iguais, variavam apenas na cor e, quando passavam mais devagar, no número da chapa.
Decorrida uma hora, o tráfego começou a diminuir; todos haviam parado para almoçar. Pouco depois de notar isso, ele ouviu um forte silvo de freios a ar e, erguendo a vista, viu passar um caminhão com uma longa faixa vermelha na lateral. Ia descendo a ladeira.
Brunetti cutucou o braço do carabiniere, que acordou instantaneamente, já ligando o motor. Foi para a rodovia e se pôs a seguir o caminhão. Cerca de dois quilômetros adiante, este ligou o pisca-pisca e virou à direita, desaparecendo numa estreita estrada de terra. Os dois continuaram na rodovia, mas Brunetti viu Ambrogiani apertar o botão, no painel, que zerava o hodômetro. Tendo avançado mais um quilômetro, parou no acostamento e desligou o motor.
“Qual é o número da chapa?”
“De Vicenza”, disse Brunetti, tirando do bolso o caderno de anotações para escrever o número enquanto ainda o tinha na memória. “O que você acha?”
“Ou a gente fica aqui até o caminhão passar, ou espera meia hora e volta para lá.”
Trinta minutos depois, como o caminhão não tivesse passado pelo lugar onde eles estavam estacionados, o maggiore tornou a subir rumo à estrada de terra. Passou por ela e, um pouco mais adiante, parou no acostamento.
Saiu do carro e foi abrir o porta-malas. Pegou uma pistola de grosso calibre, que estava junto ao estepe, e a enfiou na cinta. “Você está armado?”, perguntou.
Brunetti sacudiu a cabeça. “Hoje não.”
“Eu tenho outra. Quer?”
Ele tornou a sacudir a cabeça.
Ambrogiani fechou o porta-malas, e os dois atravessaram a rodovia e entraram na estrada de terra que se embrenhava nas montanhas.
Os caminhões haviam cavado dois sulcos no chão; com os primeiros temporais, a terra se transformaria em lama, e a estrada ficaria intransitável para veículos daquele tamanho. Algumas centenas de metros adiante, ela se alargava um pouco, fazia uma curva e seguia paralelamente a um riacho que devia nascer no lago. Pouco depois, o caminho virava à esquerda, afastando-se do curso de água, e acompanhava uma longa fileira de árvores. Mais além, fazia outra acentuada curva para a esquerda, subia num aclive íngreme e parecia terminar lá no alto. Sem dizer uma palavra, Ambrogiani se escondeu atrás de uma árvore, puxando-o consigo. Com um movimento rápido, sacou a arma e, espalmando a outra mão nas costas de Brunetti, deu-lhe um violento empurrão que o fez rodopiar sem equilíbrio.
Incapaz de parar, ele agitou os braços no ar. Ficou um instante entre o movimento e a queda, mas logo o terreno se inclinou ainda mais, tornando o tombo inevitável. Virando a cabeça, viu Ambrogiani correndo diretamente atrás dele, a arma em punho. Sentiu o coração saltar de pavor. Tinha confiado naquele homem, sem cogitar que a pessoa, na base norte-americana, que tinha descoberto a curiosidade de Foster e seu relacionamento com dra. Peters podia ser tanto um italiano quanto um americano. E ele chegara a lhe oferecer uma arma.
Brunetti finalmente caiu, atordoado, sem ar. Tentou se colocar de joelhos, pensou em Paola e teve consciência da intensidade da luz do sol à sua volta. O carabiniere se jogou no chão, ao lado dele, e, enlaçando-lhe as costas, obrigou-o a se deitar novamente. “Fique no chão. Abaixe a cabeça”, cochichou-lhe ao ouvido. E assim permaneceu, com o braço em suas costas.
Estendido, agarrando tufos de mato, os olhos fechados, Brunetti só tinha consciência do peso daquele braço em suas costas e do suor que lhe umedecia o corpo todo. Em meio ao rumor de sua própria palpitação, ouviu o barulho de um caminhão que vinha de onde ele imaginava que fosse o fim da estrada de terra. O ronco do motor não tardou a passar pelos dois e foi diminuindo à medida que o veículo se afastava em direção à rodovia. Quando o silêncio voltou, o pesado carabiniere se pôs de joelhos e começou a espanar a roupa. Abrindo um sorriso, estendeu a mão e disse: “Desculpe. Nem deu tempo de pensar. Você se machucou?”.
Aceitando a ajuda, Brunetti se levantou. Seus joelhos tremiam incontrolavelmente. “Não, eu estou bem”, respondeu, curvando-se para sacudir a poeira da calça. Sentiu a roupa de baixo grudada na pele devido ao repentino surto de pavor animal que o dominara.
Ambrogiani deu meia-volta e foi para a estrada de terra: ou não notou o medo de Brunetti, ou teve a delicadeza de fingir que não o havia notado. Este terminou de limpar a roupa, respirou fundo algumas vezes e o seguiu até o alto da ladeira. A estrada não terminava ali, virava subitamente à direita e ia dar na beira de um pequeno barranco. Eles subiram juntos até lá. No fundo da ribanceira estendia-se uma área do tamanho de um campo de futebol, em sua maior parte coberta de plantas rasteiras que podiam facilmente ter crescido naquele mesmo verão. Na extremidade mais próxima, que se estendia a partir da elevação na qual eles estavam, havia uma centena de tambores que pareciam de óleo ou querosene. Junto deles, viam-se grandes sacos de plástico reforçado, de uso industrial, todos com a boca lacrada. Deviam ter utilizado um buldôzer no lugar, pois, na outra borda, os tambores desapareciam sob uma camada de terra já recoberta de mato que haviam jogado sobre eles. Era impossível saber até onde chegavam os tambores enterrados e muito menos contá-los.
“Bom, pelo jeito, nós encontramos o que os americanos estavam procurando.”
“É”, concordou Brunetti, “eu também acho.”
Ambrogiani balançou a cabeça. “Não havia necessidade de matá-lo se ele não tivesse encontrado isto aqui. Que será que esse rapaz fez, interpelou Gamberetto diretamente?”
“Não sei”, disse Brunetti. Uma reação tão violenta não tinha sentido. Afinal, que podia acontecer de tão grave com Gamberetto? Ser multado? Com toda a certeza, ele poria a culpa nos motoristas, até pagaria um deles para que a assumisse. Dificilmente perderia o contrato da construção do hospital se o aterro clandestino fosse descoberto; para a legislação italiana, aquilo era pouco mais que uma contravenção. Gamberetto correria mais perigo se fosse apanhado dirigindo um carro não licenciado, coisa que lesava a arrecadação do governo; aquele depósito só envenenava a terra.
“Será que dá para descer até lá?”
O maggiore o encarou. “Você quer dar uma olhada?”
“Quero ver o que está escrito nos tambores.”
“Então vamos por ali”, propôs o carabiniere, apontando para a esquerda, onde um caminho estreito levava ao aterro. Desceram juntos o acentuado declive, às vezes escorregando na terra seca, segurando-se um no outro para não cair. Enfim, chegaram ao fundo e se viram a poucos metros do primeiro tambor.
Brunetti olhou para a terra. Estava ressecada e solta na periferia do terreno rebaixado; no centro, parecia adensar-se e tomar uma consistência pastosa. Pisando com cautela, ele se aproximou dos tambores. Não havia nada escrito em cima nem dos lados; nenhuma etiqueta, nenhum adesivo, nenhum tipo de identificação. Avançando pela margem do terreno e tomando o cuidado de não se acercar muito do material lá depositado, examinou a parte de cima e as laterais visíveis dos tambores. Estes chegavam quase à altura da cintura dele, todos com a tampa metálica bem encaixada a martelo. Quem os deixara lá pelo menos havia tomado a precaução de colocá-los de pé.
Tendo chegado ao fim das fileiras de tambores descobertos sem encontrar nenhuma identificação, começou a procurar um lugar em que estivessem dispostos a uma distância que lhe permitisse andar entre eles. Retornando alguns metros, encontrou o que queria. Agora, a matéria sob seus pés era mais do que uma pasta; convertera-se numa fina camada de barro oleoso, na qual a sola dos sapatos afundava. Brunetti seguiu avançando entre os tambores, às vezes curvando-se em busca de um sinal de identificação. Esbarrou o pé num dos sacos de plástico preto. Viu um pedaço de papel pendurado no tambor em que este estava encostado. Protegendo os dedos com o lenço, virou-o. Estava escrito “U. S. Air Force. Ramst...” Faltava uma parte da última palavra, mas, desde que três jatos da esquadrilha acrobática da Força Aérea Italiana colidiram e caíram, matando dezenas de civis americanos e alemães em terra, todo mundo na Itália sabia que a maior base da Força Aérea dos Estados Unidos na Alemanha ficava em Ramstein.
Brunetti empurrou o saco com o pé, tombando-o. A julgar pelas formas que se desenhavam no plástico, devia estar cheio de latas. Tirando a chave do bolso, cortou o saco, abrindo um dos lados de cima a baixo. Muitas latas e caixas de papelão se espalharam no chão. Uma das latas rolou em sua direção, e ele recuou involuntariamente.
Ambrogiani gritou às suas costas: “O que houve?”.
Erguendo a mão, Brunetti acenou, indicando que estava tudo bem, e se inclinou para examinar as latas e as caixas. Algumas diziam em inglês: “Propriedade do governo. Proibida a venda e o uso particular”. Certas caixas tinham rótulo em alemão. Na maioria, estampavam-se a caveira e as tíbias cruzadas que anunciavam a presença de veneno ou de outro perigo. Ele cutucou uma lata com o pé. O rótulo, também em inglês, dizia: “Se encontrar, comunique ao seu oficial nbq. Não toque”.
Brunetti deu meia-volta e, caminhando com mais cautela ainda, atento ao terreno em que pisava, retornou à periferia do aterro. Pouco antes de chegar, jogou fora o lenço. Ao vê-lo sair das fileiras de tambores, o carabiniere foi ter com ele.
“E então?”, perguntou.
“Há rótulos em inglês e em alemão. Alguns são da base da força aérea deles na Alemanha. Não sei de onde vem o resto.” Começaram a se afastar do depósito. “O que quer dizer oficial nbq?”, perguntou ele, esperando que o maggiore soubesse.
“Nuclear, biológico e químico.”
“Nossa Senhora!”
Foster não tinha necessidade de procurar Gamberetto e se expor ao perigo. Era um rapaz que lia livros como A vida cristã numa época de dúvida. Provavelmente fizera o que qualquer soldado jovem e inocente faria: avisou o superior. Resíduos americanos. Resíduos militares americanos. Despachados para a Itália para que lá os depositassem. Secretamente.
Os dois voltaram pela estrada de terra sem encontrar nenhum caminhão. Chegando ao carro, Brunetti se sentou com os pés para fora. Com dois movimentos rápidos, jogou os sapatos no mato à beira da rodovia. Tomando o cuidado de segurá-las pelo cano, tirou as meias e as atirou perto dos sapatos. Voltando-se para Ambrogiani, disse: “Será que a gente pode parar numa sapataria antes de ir para a estação?”.
21
No caminho de volta à estação ferroviária de Mestre, Ambrogiani deu a Brunetti uma idéia de como era possível a deposição ilegal de lixo. Embora a polícia alfandegária italiana tivesse o direito de inspecionar todos os caminhões que chegavam da Alemanha com destino à base norte-americana, eles eram tão numerosos que acabavam escapando à vistoria ou, na melhor das hipóteses, passavam por uma inspeção muito superficial. No caso dos aviões, pior ainda; decolavam e aterrissavam à vontade nos aeroportos militares de Villafranca e Aviano, carregando e descarregando o que bem entendessem. Quando Brunetti perguntou por que esse tráfego era tão intenso, o carabiniere explicou que os Estados Unidos se empenhavam muito para manter satisfeitos os soldados e aviadores, assim como suas esposas e filhos. Sorvete, pizza congelada, molho de macarrão, batatas fritas, destilados, vinho da Califórnia, cerveja: tudo isso e muito mais chegava de avião para encher as gôndolas dos supermercados, sem falar nas lojas de aparelhos de som, televisores, bicicletas de corrida, terra vegetal, lingerie. E ainda havia o transporte de equipamento pesado, tanques, jipes. Lembrou-se das bases navais de Nápoles e Livorno: podia-se transportar qualquer coisa em navio.
“Pelo jeito, para eles não é difícil”, comentou Brunetti.
“Mas por que trazer isso para cá?”
A resposta parecia muito simples: “Os alemães encaram essas coisas com muito mais rigor. Lá os ambientalistas são um verdadeiro poder. Se ficassem sabendo de algo assim, seria um escândalo. Agora que o país se reunificou, não demoraria nada para que começassem a falar em expulsar os americanos de uma vez e não ficar esperando até que eles resolvam dar o fora. Mas, aqui na Itália, ninguém quer saber onde depositam o quê, de modo que a única coisa que eles precisam fazer é tirar a identificação. Assim, se encontrarem esse lixo, não haverá quem responsabilizar, todo mundo pode dizer que não sabia de nada e ninguém vai se dar ao trabalho de investigar. E aqui ninguém vai falar em mandar os americanos embora”.
“Mas eles não eliminaram totalmente a identificação”, contrapôs Ambrogiani.
“Talvez pretendessem esconder os resíduos antes que alguém os encontrasse. Nada mais fácil do que levar um buldôzer e acabar de cobrir tudo aquilo com terra. Mesmo porque parece que o aterro já está cheio.”
“Por que eles não mandam essa porcaria para os Estados Unidos?”
Brunetti olhou demoradamente para o maggiore. Não era possível que fosse tão ingênuo. “Nós tentamos mandar o nosso lixo para os países do Terceiro Mundo, Giancarlo. Talvez a Itália seja um país do Terceiro Mundo para os americanos. Ou vai ver que, fora os Estados Unidos, todos os países são o Terceiro Mundo.”
O carabiniere resmungou alguma coisa incompreensível.
Um pouco adiante, o trânsito se congestionou no pedágio do fim da autostrada. Brunetti tirou a carteira do bolso, entregou dez mil liras ao carabiniere, pegou o troco e tornou a guardá-la. Na terceira saída, Ambrogiani virou à direita e mergulhou no tráfego caótico da tarde de sábado. Fez o trajeto lentamente, enfrentando a agressão de vários veículos. Parou em frente à estação de Mestre, alheio ao sinal de estacionamento proibido e à buzina de um carro que pretendia fazer a mesma coisa. “E então?”, perguntou, voltando-se para Brunetti.
“Veja o que você consegue descobrir sobre Gamberetto. Eu vou falar com algumas pessoas.”
“Quer que eu telefone?”
“Da base, não.” Ele anotou um número num pedaço de papel e o entregou ao maggiore. “Este aqui é o da minha casa. Você me encontra lá de manhã bem cedo ou à noite. Acho melhor usar um telefone público.”
“É”, disse o outro com voz sombria, como se aquela pequena sugestão lhe tivesse mostrado, subitamente, a magnitude da questão em que estavam envolvidos.
Brunetti abriu a porta e saiu. Contornou o carro e se inclinou do outro lado, junto à janela aberta. “Muito obrigado, Giancarlo.”
Tendo se despedido com um silencioso aperto de mão, atravessou a rua enquanto o outro dava a partida.
Ao chegar em casa, estava com dor nos pés por causa dos sapatos novos que o maggiore tinha ido comprar para ele numa loja da estrada. Cento e sessenta mil liras e lhe apertavam os pés! Tratou de tirá-los assim que entrou no apartamento e, já se despindo e jogando a roupa no chão por onde passava, foi para o banheiro. Ficou muito tempo no chuveiro, ensaboando repetidamente o corpo, esfregando os pés, sobretudo entre os dedos, enxaguando-os e tornando a lavá-los. Terminado o banho, sentou-se na borda da banheira e os examinou detidamente. Embora estivessem vermelhos devido à água quente e à esfrega, não apresentavam nenhum sinal de erupção ou queimadura. Ele concluiu que os estava sentindo como dois pés normais, se bem que não soubesse o que sentiria se estivessem anormais.
Enrolou-se na toalha e saiu. Estava a caminho do quarto quando Paola, na cozinha, gritou em meio ao ruído da máquina de lavar roupa. “Este apartamento não tem serviço de camareira, Guido!”
Sem fazer caso dela, Brunetti abriu o armário e se vestiu; sentando-se na cama, tornou a examinar os pés antes de calçar as meias. Continuavam com a aparência habitual. Pôs um par de sapatos marrons, amarrou-os e foi para a cozinha. “Como você quer que eu proíba as crianças de largarem as coisas por aí se é justamente isso que o pai delas faz?”
Ao entrar, Brunetti a encontrou ajoelhada diante da máquina, o polegar apoiado no botão de ligar e desligar. Pelo visor, viu a roupa girando para um lado, depois para o outro.
“Que aconteceu com essa coisa?”, perguntou.
Paola respondeu sem olhar para ele, concentrada nas retorcidas peças de roupa. “Sei lá, está desequilibrada. Quando eu ponho toalhas ou qualquer coisa que absorva muita água, o peso fica mal distribuído, a centrífuga se inclina para o lado e acaba desligando toda a eletricidade da casa. Por isso preciso ficar esperando começar para evitar que isso aconteça. Se acontecer, tenho de desligá-la depressa e esvaziá-la.”
“Paola, você faz isso toda vez que lava roupa?”
“Não, só quando ponho toalhas ou os lençóis de flanela de Chiara.” Ela se calou e, ao ouvir a máquina fazer um clique, tirou o dedo do botão. De repente, esta se pôs em movimento e a roupa, lá dentro, começou a girar, comprimida na parede da centrífuga. Paola se levantou e sorriu. “Pronto. Desta vez deu certo.”
“Há quanto tempo ela está assim?”
“Ah, não sei. Há alguns anos.”
“E você faz isso toda vez que lava roupa?”
“Já disse que é só quando eu ponho toalhas.” Tornou a sorrir, já não estava irritada. “Por onde você anda desde que amanheceu o dia? Comeu alguma coisa?”
“No lago Barcis.”
“Fazendo o quê? Brincando na terra? Sua roupa está imunda. Parece até que você rolou no chão.”
“Eu rolei no chão”, disse Brunetti, e começou a narrar o dia passado na companhia de Ambrogiani. Foi uma exposição demorada, pois ele teve de dar muitas voltas, falar em Kayman e seu filho, no “sumiço” da ficha do menino, na revista médica que havia chegado pelo correio. Por fim, falou na droga escondida no apartamento de Foster.
Terminado o relato, Paola perguntou: “E eles tiveram a coragem de dizer que o menino era alérgico a uma planta? Que estava tudo bem?”. Sacudiu a cabeça, indignada. “Que filhos da mãe! E se ele desenvolver outros sintomas? O que vão dizer aos pais?”
“Talvez o garoto não desenvolva outros sintomas.”
“Mas pode ser que desenvolva, Guido. E aí? O que vão dizer aos pais? Que ele pegou uma doença desconhecida? Ou vão perder mais uma ficha médica?”
Brunetti teve vontade de dizer que a culpa não era dele, mas seria um protesto muito fraco, de modo que preferiu ficar calado.
Dando-se conta da inutilidade de sua explosão, Paola se voltou para coisas práticas: “O que você vai fazer?”.
“Não sei.” Ele se calou um momento antes de prosseguir. “Preciso falar com o seu pai.”
“Com o papai?”, surpreendeu-se ela. “Por quê?”
Mesmo sabendo que suas palavras causariam tumulto, Brunetti disse a verdade: “Porque ele sabe disso”.
Paola reagiu sem pensar: “Que história é essa? Como ele pode saber? Como? O que você pensa que o meu pai é, uma espécie de criminoso internacional?”.
O silêncio de Brunetti a conteve. Atrás deles, a máquina de lavar parou de girar e desligou automaticamente. Na cozinha subitamente silenciosa, só restou o eco das últimas palavras deles. Ela deu meia-volta, agachou-se para esvaziar a máquina, amontoando a roupa úmida nos braços. Sem dizer nada, passou por ele e foi para o terraço, jogou as peças numa cadeira e começou as pendurá-las, uma a uma, no varal. Quando voltou a entrar, limitou-se a dizer: “Bom, pode ser que ele conheça alguém que talvez saiba alguma coisa. Você liga ou quer que eu ligue?”.
“Eu mesmo telefono, é melhor.”
“Então faça isso agora, Guido. Minha mãe disse que eles vão passar uma semana em Capri, viajam amanhã.”
“Está bem.”
Brunetti foi para a sala de estar, onde ficava o aparelho. Sabia o número de cor, embora não tivesse a menor idéia do porquê disso, já que não o discava mais do que duas vezes por ano. Sua sogra atendeu e, caso tivesse se surpreendido ao lhe ouvir a voz, não o demonstrou. Informou que Orazio estava em casa e, sem fazer nenhuma pergunta, disse que ia chamá-lo.
“Alô, Guido”, atendeu o conde.
“Eu queria saber se você tem tempo para mim hoje. Preciso falar com você sobre uma coisa que aconteceu.”
“Viscardi?”, perguntou o outro, surpreendendo o genro, que não sabia que ele estava a par desse caso.
“Não, não é isso”, respondeu Brunetti, pensando que teria sido muito mais fácil indagar sobre Viscardi ao sogro, não a Fosco, e que talvez obtivesse informações mais precisas. “É sobre uma coisa em que estou trabalhando.”
Educado demais para perguntar do que se tratava, Orazio disse: “Nós vamos jantar fora, mas, se você vier agora mesmo, teremos mais ou menos uma hora para conversar. Isso lhe convém, Guido?”.
“Sim, sim. Eu estou indo. Obrigado.”
“E então?”, perguntou Paola quando ele voltou para a cozinha, onde outra carga de roupa nadava incansavelmente num mar de espuma branca.
“Eu vou até lá. Quer vir comigo e visitar a sua mãe?”
À guisa de resposta, ela apontou com o queixo para a máquina de lavar roupa.
“Tudo bem. Então eu vou indo. Eles vão jantar fora, de modo que devo estar de volta antes das oito. Que você acha de a gente também jantar fora hoje?”
Paola sorriu e fez que sim.
“Está bem. Você escolhe o lugar e reserva a mesa. Alguma preferência?”
“Al Covo?”
Brunetti bancou o durão e não vacilou, embora soubesse quanto aquilo ia lhe custar. Primeiro os sapatos, agora um jantar no Al Covo. A comida era maravilhosa; o diabo era o preço. Ele sorriu: “Faça a reserva para as oito e meia. E pergunte se os meninos querem ir”. Afinal de contas, tinha nascido de novo aquela tarde, por que não comemorar?
Ao chegar ao palazzo dos Falier, Brunetti se viu frente ao dilema que sempre o aguardava à porta: pegar a argola imensa da aldrava e batê-la na placa de metal, fazendo o anúncio de sua chegada ecoar por todo o pátio interno, ou se servir da bem mais prosaica campainha. Preferiu a segunda opção, e, um momento depois, uma voz no interfone perguntou quem era. Ele se identificou, e a porta se abriu. Brunetti entrou, fechou-a e atravessou o pátio rumo à parte do palazzo que dava para o Canale Grande. A empregada uniformizada apareceu a uma janela do segundo andar para verificar quem era o recém-chegado. Aparentemente satisfeita por não ter dado com nenhum malfeitor, afastou-se e desapareceu lá dentro.
Mesmo sabendo que o conde estava para completar setenta anos, Brunetti achava difícil acreditar que fosse o pai de Paola. Talvez um irmão mais velho ou o tio mais novo, porém de modo algum um homem com quase trinta anos mais que ela. O cabelo escasso, cortado rente no reluzente crânio oval, denunciava a idade, mas a pele lisa do rosto e o brilho inteligente dos olhos claros anulavam essa impressão. “Muito prazer em vê-lo, Guido. Você está com ótima aparência. Não é melhor a gente ir para o escritório?”, disse o conde, e, voltando-se, levou-o de volta à parte da frente da casa. Passaram por vários cômodos antes de chegar ao escritório, cuja parede envidraçada dava para o Canale Grande, bem na curva que levava à ponte Accademia. “Quer tomar alguma coisa?”, ofereceu, aproximando-se do aparador, onde uma garrafa de Dom Perignon já aberta estava gelando num balde de prata.
Brunetti conhecia muito bem o sogro para saber que aquilo não tinha absolutamente nenhuma afetação. Se ele preferisse refrigerante, poria uma garrafa plástica de dois litros no mesmo balde e o ofereceria do mesmo modo aos visitantes. Desde que nascera, aquele homem nunca tivera necessidade de impressionar ninguém.
“Quero, sim, por favor”, respondeu Brunetti. Assim podia ir criando clima para a noitada no Al Covo. Se o sogro se distraísse, talvez conseguisse roubar o balde de gelo para pagar a conta.
Orazio serviu o champanhe numa taça limpa, acrescentou um pouco à sua e entregou a primeira ao genro. “Vamos nos sentar, Guido”, convidou, conduzindo-o a duas poltronas viradas para o Canale Grande.
Os dois se sentaram e saborearam o vinho. Então o conde perguntou: “Em que posso ser útil?”.
“Eu preciso de uma informação, mas não sei bem o que perguntar”, disse Brunetti, decidido a falar com franqueza. Não podia lhe pedir que guardasse segredo do que ia dizer; seria um insulto que Orazio não perdoaria nem mesmo ao pai dos seus únicos netos. “Queria que você me contasse alguma coisa sobre o signor Gamberetto, de Vicenza, que tem uma empresa de coleta de lixo e, ao que parece, também uma construtora. A única coisa que eu sei dele é o nome. E que talvez esteja envolvido com algo ilegal.”
O conde balançou vagarosamente a cabeça, sugerindo que o nome lhe era familiar, mas que, antes de dizer qualquer coisa, preferia que o genro esclarecesse o que queria.
“Também gostaria de saber do envolvimento dos militares americanos, primeiro, com o signor Gamberetto, depois, com a deposição ilegal de substâncias tóxicas que parece estar ocorrendo neste país.” Tomou um gole do champanhe. “Se você puder me contar alguma coisa, fico muito agradecido.”
O conde terminou o vinho e pôs a taça vazia na mesinha ao lado. Cruzou as pernas compridas, exibindo as meias de seda preta, e uniu os dedos numa pirâmide sob o queixo. “O signor Gamberetto é um homem de negócios particularmente sórdido e particularmente bem relacionado. Não só tem as duas empresas que você citou, Guido, como também é dono de uma grande rede de hotéis, agências de viagem e colônias de férias, boa parte dela no exterior. Dizem que entrou, recentemente, no ramo de armas e munições, associando-se a um dos industriais mais importantes da Lombardia. Muitas dessas empresas são de propriedade da esposa dele; por isso o nome de Gamberetto raramente aparece nos documentos e contratos. Creio que a construtora está no nome de um tio, mas pode ser que eu esteja enganado.”
“Como muitos dos novos empresários”, prosseguiu, “Gamberetto é estranhamente invisível. Mas é muito mais bem relacionado do que a maioria deles. Tem amigos influentes tanto no Partido Socialista quanto no Democrata Cristão, o que não é pouco, de modo que está muito protegido.”
Levantou-se, aproximou-se do aparador, voltou com a garrafa, encheu as duas taças e foi recolocá-la no balde. Instalando-se confortavelmente na poltrona, continuou. “O signor Gamberetto é do Sul e, se não me falha a memória, seu pai era zelador numa escola pública. Conseqüentemente, não são muitas as ocasiões sociais em que nos encontramos. Não sei nada de sua vida pessoal.” Sorveu a bebida.
“Quanto à segunda pergunta, sobre os americanos, eu queria saber o que despertou a sua curiosidade. Boatos não faltam”, acrescentou, já que Brunetti permaneceu calado. Este não podia senão especular sobre as estonteantes alturas em que circulavam tais boatos, mas permaneceu em silêncio.
Orazio girou a haste da taça entre os dedos. Convencendo-se de que o genro não ia dizer nada, prosseguiu: “Eu sei que lhes concederam direitos extraordinários, direitos que não foram estipulados nos tratados assinados no fim da guerra. Muitos dos nossos governos efêmeros e incompetentes acharam conveniente oferecer-lhes um ou outro tipo de tratamento preferencial. E saiba que isso se estende não só a coisas como autorizá-los a espalhar silos de mísseis nas nossas montanhas, informação que se pode obter com qualquer habitante da província de Vicenza, como também a permitir que eles tragam para cá o que bem entenderem”.
“Inclusive substâncias tóxicas?”
O conde baixou a cabeça. “É o que dizem.”
“Mas por quê? Só um louco aceitaria isso.”
“Guido, o governo não está interessado em ter juízo; o que lhe interessa é ter sucesso.” Renunciando ao tom um tanto pedante, o conde resolveu ser mais direto e particular. “Segundo os boatos, antigamente, esse material só fazia baldeação na Itália. Chegava das bases da Alemanha, era descarregado aqui e imediatamente transferido a navios italianos que o levavam para a África ou para a América do Sul, onde ninguém indagava o que estava sendo jogado no meio da selva, da floresta ou do lago. Mas, como nos últimos anos muitos desses países sofreram mudanças radicais de governo, a festa acabou, e eles passaram a não aceitar os nossos resíduos letais. Ou, quando aceitam, cobram um preço exorbitante. Em todo caso, os intermediários daqui, que continuam recebendo essa carga, não estão dispostos a parar de recebê-la e de lucrar só porque já não podem depositá-la em outros lugares, em outros continentes. Portanto, o material continua chegando, e eles dão um jeito de depositá-lo aqui mesmo.”
“Você sabe disso tudo?”, perguntou Brunetti sem dissimular a surpresa ou talvez um sentimento ainda mais forte.
“Guido, isso é público e notório, pelo menos em termos de boato. Você mesmo pode se informar com facilidade, basta passar algumas horas telefonando. Mas ninguém sabe disso, a não ser as pessoas diretamente envolvidas. E esse tipo de gente não dá com a língua nos dentes. Aliás, devo acrescentar, com esse tipo de gente não se conversa.”
“Esnobá-los nos coquetéis não contribui muito para fazer com que eles parem”, disparou Brunetti. “Nem faz com que as coisas que já foram depositadas desapareçam.”
“O seu sarcasmo não me escapa, Guido, mas, infelizmente, é uma situação em que nós somos impotentes.”
“Nós quem?”
“Quem conhece o governo e sabe o que ele faz, mas não participa ativamente dele. Também convém levar em conta que não é só o nosso governo que está envolvido, mas também o dos Estados Unidos.”
“Para não falar nos cavalheiros do Sul.”
“Ah, sim, a máfia”, disse Orazio com um suspiro de cansaço. “Parece que é uma teia urdida pelos três e, por isso mesmo, triplamente perigosa.” Fitou-o nos olhos. “Você está muito envolvido nisso, Guido?” Sua preocupação era evidente.
“Você se lembra do americano que foi assassinado aqui há uma semana?”
“Ah, sim, num assalto. Que coisa triste.” Cansando-se da própria afetação, o conde mudou de atitude. “Imagino que você tenha descoberto uma conexão entre ele e esse signor Gamberetto.”
“É verdade.”
“Houve outra morte estranha entre os americanos, uma médica do hospital de Vicenza. Está certo?”
“Sim. Ela era amante dele.”
“Pelo que eu soube, foi overdose.”
“Foi homicídio”, corrigiu Brunetti, mas não deu explicação.
Seu sogro não a pediu e ficou um longo tempo em silêncio, olhando para os barcos que passavam no canal. Por fim, perguntou: “O que você vai fazer?”.
“Não sei. Você teria alguma influência nesse tipo de coisa?”, perguntou Brunetti, aproximando-se mais do motivo da visita.
O conde refletiu muito antes de responder. “Não sei se entendi o que você quis dizer com isso, Guido.”
Brunetti, para quem a pergunta era suficientemente clara, não fez caso da observação do sogro e passou a lhe dar mais informações. “Há um depósito de resíduos tóxicos perto do lago Barcis. Os tambores e as latas são da base americana de Ramstein, na Alemanha; os rótulos estão em inglês e em alemão.”
“Esses dois americanos encontraram o local?”
“Acho que sim.”
“E morreram por causa disso?”
“Sim.”
“Quem mais sabe disso?”
“Um oficial dos carabinieri que trabalha na base americana.” Não havia necessidade de mencionar o nome de Ambrogiani, nem Brunetti achou conveniente contar que a outra pessoa que sabia de tudo era a única filha do próprio conde.
“Você confia nele?”
“Para fazer o quê?”
“Não seja intencionalmente ignorante, Guido. Eu estou tentando ajudá-lo.” Ainda que com dificuldade, o homem recobrou o autocontrole e prosseguiu. “Você acredita que ele vai ficar de boca fechada?”
“Até quando?”
“Até que se tome uma providência.”
“Que significa isso?”
“Significa que eu vou dar alguns telefonemas e ver o que se pode fazer.”
“Em que sentido?”
“No sentido de acabar com esse depósito, de tirar as coisas de lá.”
“E levá-las para onde?”, perguntou Brunetti com irritação na voz.
“Tirá-las do lugar em que estão, Guido.”
“E levá-las a outro lugar da Itália?”
Brunetti percebeu que o sogro estava decidindo se mentia para ele ou não. Enfim, preferindo não fazê-lo, e Brunetti nunca entenderia por quê, ele disse: “Talvez. Mas provavelmente para fora do país”. Antes que o genro fizesse mais perguntas, calou-o com um gesto. “Por favor, Guido, procure entender. Eu não posso prometer mais do que prometi. Acho que podemos nos livrar desse material, mas eu teria medo de ir mais além.”
“Você diz literalmente medo?”
Orazio respondeu com voz glacial. “Literalmente. Medo.”
“Por quê?”
“Isso eu prefiro não explicar, Guido.”
Brunetti resolveu instigá-lo um pouco mais. “O motivo pelo qual eles descobriram o depósito clandestino foi um menino que caiu e queimou o braço com uma substância que vaza dos tambores. Podia ter acontecido com qualquer criança. Podia ter sido Chiara.”
O outro lhe endereçou um olhar frio. “Pelo amor de Deus, Guido, agora você está sendo ridiculamente sentimental.”
Era verdade, Brunetti sabia. “Você não liga para isso?”, perguntou, incapaz de dissimular a paixão na voz.
Orazio molhou a ponta do dedo no vinho que restava no fundo da taça e começou a passá-la na borda. Aumentando a velocidade do movimento, extraiu do cristal um som agudo que inundou o escritório. De súbito, afastou o dedo, mas o ruído continuou pairando no ar, tanto quanto a conversa deles. Tirando os olhos da taça, olhou para o genro. “Eu ligo, sim, Guido, mas de outro modo. Você conseguiu conservar vestígios de otimismo mesmo fazendo o trabalho que faz. Eu não. Nem comigo, nem com o meu futuro, nem com este país, nem com o seu futuro.”
Voltou a olhar para a taça vazia. “Lamento muito que essas coisas aconteçam, que nos envenenemos a nós mesmos e aos nossos descendentes, que estejamos destruindo conscientemente o futuro, mas sei que não se pode fazer nada para evitá-lo. Nada, repito. Nós somos uma nação egoísta. É a nossa glória, mas também vai ser a nossa destruição, pois nenhum de nós foi feito para se preocupar com uma coisa tão abstrata como ‘o bem comum’. Os melhores italianos se preocupam, quando muito, com suas famílias, mas, como nação, é o máximo de que somos capazes.”
“Eu me recuso a acreditar nisso.”
O conde sorriu quase com ternura. “A sua recusa, Guido, não faz com que isso deixe de ser verdade.”
“A sua filha não acredita”, acrescentou Brunetti.
“E essa é uma graça que todo dia eu agradeço a Deus”, disse Orazio em voz baixa. “Talvez essa seja a melhor coisa que realizei na vida, que a minha filha não compartilhe das minhas convicções.”
Brunetti procurou ironia ou sarcasmo na voz do sogro, mas só encontrou a dolorosa verdade.
“Você disse que vai tomar providências para que o lixo seja levado embora de lá. Por que não faz mais do que isso?”
O conde endereçou o mesmo sorriso ao genro. “Acho que esta é a primeira vez que nós conversamos em muitos anos, Guido.” Mudou o tom de voz. “Porque existem muitos aterros clandestinos e muitos homens como Gamberetto.”
“Você pode fazer alguma coisa com relação a ele?”
“Não, não posso fazer nada.”
“Não pode ou não quer?”
“Em certas circunstâncias, Guido, poder e querer são a mesma coisa.”
“Isso é um sofisma.”
O conde riu um riso solto. “É mesmo? Então vamos reformular: prefiro não fazer nada além do que eu disse que vou fazer.”
“Por que isso?”
“Porque eu não consigo me preocupar com nada além da minha família.” Falou em tom definitivo; não daria nenhuma outra explicação.
“Posso lhe fazer mais uma pergunta?”
“Pode.”
“Quando eu telefonei, perguntando se a gente podia conversar, por que você me perguntou se era sobre Viscardi?”
Orazio o encarou com surpresa, mas logo voltou a atenção para os barcos no canal. Passaram-se alguns minutos. “O signor Viscardi e eu temos interesses comuns nos negócios.”
“O que isso quer dizer?”
“Exatamente o que eu disse, que nós temos interesses comuns.”
“E eu posso saber que interesses são esses?”
O outro tornou a encará-lo antes de responder. “Guido, eu só discuto os meus negócios com quem está diretamente envolvido.”
Brunetti fez menção de protestar, mas ele acrescentou: “Quando eu morrer, os meus negócios estarão além do meu controle. Muitos deles passarão para a sua mulher”, fez uma pausa, “e para você. Mas, até lá, eu só vou discuti-los com as pessoas envolvidas”.
Brunetti teve vontade de lhe perguntar se os seus negócios com o signor Viscardi eram legítimos, mas não sabia como fazê-lo sem ofender o sogro. Ou, o que era pior, receou já não saber o que significava a palavra “legítimo”.
“Você pode me contar alguma coisa sobre o signor Viscardi?”
A resposta demorou a chegar: “Ele tem interesses em comum com várias outras pessoas. Muitas delas são poderosíssimas”.
Brunetti percebeu a advertência na voz do sogro, mas também percebeu a conexão que ela ocultava.
“Nós estávamos falando numa delas?”
O conde não respondeu.
“A gente estava falando numa dessas pessoas?”, insistiu Brunetti.
O conde fez que sim.
“Você vai me falar nos interesses que eles têm em comum?”
“A única coisa que eu posso e vou lhe dizer é que não convém se meter com nenhum dos dois.”
“E se eu quiser me meter?”
“Prefiro que você não faça isso.”
Incapaz de resistir, Brunetti disse: “E eu prefiro que você me fale dos negócios deles”.
“Parece que nós chegamos a um impasse, não?”, perguntou Orazio com voz artificialmente leve e coloquial. Antes que Brunetti pudesse replicar, eles ouviram um ruído às suas costas e se viraram. A condessa acabava de entrar no escritório. Apressou-se a ir ter com o genro, os saltos altos martelando uma alegre mensagem no assoalho. Os dois se levantaram. “Guido, que prazer em vê-lo”, disse ela, beijando-lhe o rosto.
“Ah, minha querida”, sorriu o conde, curvando-se para lhe beijar a mão. Casados havia mais de quarenta anos, e ele ainda lhe beijava a mão quando ela entrava no escritório. Pelo menos não batia continência.
“Nós estávamos justamente falando em Chiara”, mentiu.
“É”, concordou Brunetti, “estávamos comentando que sorte a nossa os meninos terem tanta saúde.” Orazio olhou para ele por cima da cabeça da esposa, que sorriu para os dois. “É mesmo. Graças a Deus. Que bom que nós vivemos num país saudável como a Itália.”
“É verdade”, concordou o conde.
“Que você acha que eu devo trazer de Capri para ela?”, perguntou a condessa.
“Basta vocês voltarem sãos e salvos”, galanteou Brunetti. “Você sabe como é o Sul.”
Ela voltou a sorrir. “Oh, Guido, essas coisas que andam falando sobre a máfia não podem ser verdade. Pura fofoca. É o que dizem todas as minhas amigas.” Voltou-se para o marido em busca de confirmação.
“Se é o que dizem as suas amigas, querida, só pode ser verdade”, sorriu o conde. Virou-se para Brunetti. “Pode deixar, Guido, eu cuido disso para você. À noite, vou dar uns telefonemas. E não se esqueça de falar com o seu amigo de Vicenza. Não precisa se preocupar com isso.”
Notou o olhar intrigado da esposa. “Não é nada, querida. Só um negócio que Guido me pediu que acompanhasse. Nada importante. Uns trâmites que talvez eu consiga fazer mais depressa do que ele.”
“Que gentileza, Orazio”, respondeu ela, evidentemente entusiasmada com a família felicíssima que tinha. E dirigiu-se a Guido; “É bom saber que você não fez cerimônia para pedir.”
O conde lhe tomou o braço: “Acho que a gente precisa ir, está na hora. A lancha já chegou?”.
“Ah, sim, eu vim justamente por isso. Mas acabei me esquecendo por causa dessa conversa sobre negócios.” Dirigiu-se a Brunetti. “Lembranças à Paola e um beijo nas crianças. Eu telefono quando chegar a Capri. Ou a Ischia? Aonde nós vamos mesmo, Orazio?”
“A Capri, meu bem.”
“Eu telefono. Tchau, Guido”, disse ela, pondo-se na ponta dos pés para beijá-lo.
O conde e Brunetti se despediram com um aperto de mão. Os três foram juntos para o pátio interno. O casal saiu pelo portão do ancoradouro do palazzo e embarcou na lancha que o aguardava. Brunetti saiu pela porta principal, tomando o cuidado de deixá-la bem fechada.
22
A segunda-feira foi um dia normal na questura: dois camelôs norte-africanos detidos por venderem bolsas e óculos escuros sem licença; duas casas assaltadas em diferentes partes da cidade; quatro donos de barco intimados por não terem equipamento de segurança adequado a bordo; e dois conhecidos viciados presos por ameaçarem um médico que se recusou a lhes fornecer receita. Patta chegou às onze horas, ligou para Brunetti, querendo saber se havia algum progresso no caso Viscardi, não dissimulou a irritação ao receber resposta negativa, foi almoçar uma hora depois e não voltou antes das três.
Vianello subiu para comunicar que, no sábado, o carro não tinha aparecido e que o deixaram uma hora esperando na Piazzale Roma, plantado no ponto de ônibus com um buquê de cravos vermelhos na mão. Por fim, ele desistira, voltara para casa e dera as flores para a mulher. Cumprindo a sua parte no acordo, Brunetti alterou a escala de plantão de modo que Vianello ficasse de folga na sexta-feira e no sábado seguintes. Pediu-lhe que entrasse em contato com o rapaz de Burano e verificasse o que tinha dado errado e por que o amigo de Ruffolo não comparecera ao encontro.
Tendo comprado todos os jornais importantes no caminho do trabalho, ele passou a maior parte da manhã lendo-os de ponta a ponta, à procura de uma referência ao aterro sanitário perto do lago Barcis, a Gamberetto ou a qualquer coisa relacionada com os detalhes da morte dos americanos. No entanto, a imprensa não parecia interessada em nenhum desses tópicos, de modo que ele acabou se entretendo com as notícias de futebol e dando a isso o nome de trabalho.
No dia seguinte, tornou a comprar os jornais e começou a lê-los com cuidado. Revoltas na Albânia, os curdos, um vulcão, indianos a se digladiarem, dessa vez por motivos políticos, não religiosos, mas nenhuma menção à descoberta de lixo tóxico nas proximidades do lago Barcis.
Sabendo que era loucura, mas incapaz de deixar de fazê-lo, desceu ao pabx e pediu ao telefonista o número da base norte-americana. Caso Ambrogiani tivesse conseguido descobrir alguma coisa acerca de Gamberetto, ele queria saber e não ia esperar até que o outro ligasse. O telefonista lhe deu dois números, o central e o do escritório dos carabinieri. Brunetti teve de ir até Riva degli Schiavoni para encontrar um telefone público que aceitasse cartão magnético. Digitou o número do posto de carabinieri e pediu para falar com o maggiore Ambrogiani. No momento, ele não se encontrava no escritório. Quem estava falando, por favor? “É o signor Rossi, da Companhia Geral de Seguros. Eu volto a telefonar à tarde.”
A ausência de Ambrogiani podia não significar nada. Ou muita coisa.
Como fazia sempre que estava nervoso, Brunetti se pôs a caminhar. Virou à esquerda e foi margeando o canal até chegar à ponte que levava a Sant’ Elena, atravessou-a e deu umas voltas naquela parte remota da cidade, achando-a tão interessante como sempre. Retornou por Castello, ao longo do muro do Arsenale, e chegou a San Giovanni e Paolo, onde tudo havia começado. Evitou olhar para o campo, não queria ver o lugar de onde haviam retirado o corpo de Foster. Seguiu diretamente para a Fondamente Nuove, acompanhando a água até ser obrigado a se afastar dela e voltar para o centro: passou pela Madonna dell’ Orto, reparou que o hotel continuava em obras e, de repente, viu-se no Campo del Ghetto. Sentou-se num banco e ficou observando os transeuntes. Eles não tinham idéia, nenhum deles. Desconfiavam do governo, temiam a máfia, não gostavam dos americanos, mas essas eram idéias genéricas, desfocadas. Sentiam a conspiração, como os italianos sempre a sentiram, porém desconheciam os detalhes, não tinham provas. Graças a longos séculos de experiência, haviam aprendido a saber perfeitamente que a prova existia, amplamente, mas esses mesmos séculos brutais lhes ensinaram que o governo no poder, fosse ele qual fosse, sempre conseguiria ocultar dos cidadãos toda e qualquer prova de seus delitos.
Brunetti fechou os olhos e, satisfeito com o sol, afundou no banco. Ao abri-los, viu as duas irmãs Mariani passando pelo campo. Deviam estar com mais de setenta anos, ambas de cabelo comprido até os ombros, saltos altos e batom muito vermelho nos lábios. Ninguém se lembrava dos fatos, mas todos conheciam a história. Durante a guerra, o marido cristão de uma delas as denunciara à polícia, e as duas foram enviadas a um campo de concentração. Ninguém recordava qual deles, Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau; o nome não tinha importância. Depois da guerra, elas retornaram à cidade, tendo sobrevivido a mil horrores, e lá estavam agora, quase cinqüenta anos depois, atravessando o Campo del Ghetto de braços dados, cada qual com uma fita amarela no cabelo. Para as irmãs Mariani, houvera uma conspiração e, por certo, elas viram a prova da maldade humana; no entanto, estavam passeando em Veneza, numa tarde ensolarada e pacífica, os vestidos floridos salpicados de raios de sol.
Brunetti sabia que estava sendo desnecessariamente sentimental. Embora tivesse vontade de ir diretamente para casa, voltou à questura. Foi devagar, sem nenhuma pressa.
Ao chegar, encontrou um bilhete na mesa, “Notícias de Ruffolo. V”, e desceu imediatamente à sala de Vianello.
Encontrou-o no lugar de sempre, à escrivaninha, conversando com um rapaz sentado à sua frente. Ao vê-lo entrar, anunciou: “Este é o comissário Brunetti. Ele tem mais condições que eu de responder”.
O jovem se levantou, mas não fez menção de lhe apertar a mão. “Boa tarde, dottore”, disse. “Eu vim porque ele me chamou”, deixando que Brunetti deduzisse quem era esse “ele”. Baixo e atarracado, tinha mãos desproporcionalmente grandes para o corpo, já vermelhas e inchadas, embora não passasse dos dezessete anos. Se isso não bastasse para mostrar que ele era pescador, seu sotaque, aquela áspera ondulação tão típica de Burano, dizia tudo. Em Burano, quem não pescava fazia renda; suas mãos excluíam a segunda possibilidade.
“Sente-se, por favor”, convidou Brunetti ao mesmo tempo que puxava outra cadeira. Obviamente, a mãe do garoto o havia educado bem, pois ele permaneceu de pé até que os dois se acomodassem, e só então se sentou, com o corpo empinado, as mãos apoiadas nas laterais do assento.
Quando ele começou a falar no rude linguajar das ilhas mais distantes, nenhum italiano que não fosse natural de Veneza o teria compreendido. Brunetti se perguntou se o rapazinho era capaz de dizer alguma coisa em italiano. Mas seu interesse lingüístico não tardou a desaparecer ao ouvi-lo. “Ruffolo telefonou para o meu amigo outra vez, e o meu amigo me telefonou, e, como eu disse para o sargento que avisaria se tivesse notícia do meu amigo, vim avisar.”
“O que o seu amigo disse?”
“Ruffolo quer conversar com alguém. Está com medo.” Interrompendo-se de repente, olhou intensamente para os dois policiais a fim de averiguar se haviam notado o seu deslize. Acreditando que não, prosseguiu. “Quer dizer, o meu amigo contou que ele estava meio assustado, mas a única coisa que esse meu amigo disse foi que Peppino queria falar com alguém, mas não com um sargento. Ele quer falar com uma pessoa mais importante.”
“O seu amigo contou por que Ruffolo resolveu fazer isso?”
“Não, senhor, não contou. Mas eu acho que foi a mãe dele que mandou.”
“Você conhece Ruffolo?”
O garoto deu de ombros.
“Do que ele está com medo?”
Dessa vez o movimento dos ombros provavelmente queria dizer que o rapaz não sabia. “Ele se acha muito esperto. O Peppino. Vive se vangloriando, não pára de falar nos caras que ficou conhecendo lá dentro e nos amigos importantes que tem. Quando ele me telefonou”, disse o garoto, esquecendo-se da existência do amigo imaginário, o suposto intermediário entre os dois, “falou que quer se entregar, mas que tem umas coisas para negociar. Disse que o senhor vai ficar contente com elas, que é um bom negócio.”
“Ele não contou o que é?”, perguntou Brunetti.
“Não, mas me mandou dizer que são três, três coisas, que o senhor entenderia.”
Brunetti entendeu. Guardi, Monet e Gauguin. “E onde Ruffolo quer se encontrar com essa pessoa?”
Como se tivesse percebido subitamente a ausência do amigo imaginário que servia de pára-choque entre ele e as autoridades, o jovem se calou e olhou ao redor, mas o tal amigo havia desaparecido; não restava o menor vestígio dele.
“Sabe a passarela estreita em frente ao Arsenale?”, perguntou.
Os dois policiais fizeram que sim. Com pelo menos um quilômetro de comprimento, aquela passagem elevada de cimento ia dos estaleiros do Arsenale à parada de vaporetto Celestia, estendendo-se cerca de dois metros acima das águas da laguna.
“É lá que ele vai estar, na parte onde fica a prainha, perto da ponte, no lado do Arsenale. Amanhã à meia-noite.” Brunetti e Vianello se entreolharam por cima da cabeça do garoto, e Vianello murmurou a palavra “Hollywood”.
“E quem ele quer que vá a esse encontro?”
“Uma pessoa importante. Disse que foi por isso que ele não apareceu no sábado, não ia se encontrar com um sargento.” Vianello não se mostrou ofendido com isso.
Permitindo-se um momento de fantasia, Brunetti imaginou Patta com todos os seus apetrechos, a piteira de ônix, a bengala e, já que no início da madrugada havia neblina, também com sua capa de chuva Burberry, o colarinho devidamente erguido, esperando na passarela do Arsenale enquanto os sinos de San Marco davam as doze badaladas. E, como podia fantasiar o que bem entendesse, imaginou-o encontrando-se não com Ruffolo, que falava italiano, e sim com aquele rapazinho simples de Burano, e ainda imaginou os tons grosseiros de seu carregado dialeto, assim como a enrolada pronúncia siciliana de Patta, sendo levados pelo vento da laguna.
“Será que um comissário serve?”
Sem saber como interpretar a pergunta, o moço olhou para ele. “Sim, senhor”, disse, decidindo levá-lo a sério.
“Amanhã à meia-noite?”
“Sim, senhor.”
“Por acaso Ruffolo disse... ahn, disse ao seu amigo se vai trazer as coisas?”
“Não, senhor. Isso ele não disse. Só que vai estar na passarela à meia-noite, perto da ponte. Na prainha.” Não chegava a ser propriamente uma praia, lembrou-se Brunetti, apenas um lugar em que as marés haviam acumulado areia e cascalho num dos muros do Arsenale, abrindo um espaço em que a água lançava garrafas de plástico e sapatos velhos cobertos de algas e limo.
“Se o seu amigo entrar em contato com Ruffolo, diga-lhe que eu vou me encontrar com ele.”
Satisfeito por ter cumprido sua missão, o rapazinho se levantou, despediu-se desajeitadamente e se foi.
“Provavelmente vai correndo procurar um telefone e avisar Ruffolo que o encontro está marcado”, disse Vianello.
“Tomara que sim. Não quero ficar uma hora plantado naquele lugar para, no fim, ele não aparecer.”
“Quer que eu vá junto, senhor?”
“Sim, acho que quero”, respondeu Brunetti, reconhecendo que não era nenhum herói. Mas logo mudou de idéia. “Pensando bem, Vianello, não vale a pena. Ele vai mandar alguém vigiar as extremidades da passarela, e em nenhuma delas há um lugar em que você possa ficar sem ser visto. Por outro lado, com Ruffolo não há perigo, ele nunca foi violento.”
“Eu posso ir até lá e pedir para ficar numa casa.”
“Não, melhor não. Ele já deve ter pensado nisso e, com certeza, seus amigos vão ficar rondando a área.” Brunetti tentou formar uma imagem mental das imediações da parada Celestia, mas só conseguiu se lembrar de uns conjuntos habitacionais anônimos, uma região quase totalmente desprovida de lojas e bares. Aliás, não fosse a presença da laguna, seria difícil acreditar que aquilo era Veneza, todos os prédios de apartamento eram muito novos, totalmente sem atributos próprios, sem individualidade. Podiam perfeitamente estar em Mestre ou em Marghera.
“E os outros dois?”, perguntou Vianello, referindo-se aos comparsas de Ruffolo no assalto.
“Imagino que queiram participar da barganha. Ou então Peppino está muito mais esperto do que há dois anos e conseguiu roubar os quadros deles.”
“Talvez os dois tenham ficado com as jóias.”
“É possível. Mas é mais provável que Ruffolo seja o porta-voz dos três.”
“Isso não tem sentido. Se eles fugiram com as coisas, se estão com os quadros e as jóias, qual é a vantagem de desistir agora, de devolver tudo?”
“Talvez seja muito difícil vender as obras de arte.”
“Ora, o senhor conhece o mercado tão bem quanto eu. Quem procura acha comprador para qualquer coisa, por mais ‘sujeira’ que seja. Eu vendo até a Pietà se conseguir tirá-la da Basílica de São Pedro.”
Vianello estava certo. Não tinha o menor sentido. Ruffolo não era homem de se regenerar, e não faltava mercado para obras de arte, fosse qual fosse sua origem. Brunetti recordou que a lua cheia acabava de começar e pensou no alvo fácil que ele seria, o paletó escuro nitidamente delineado no muro claro do Arsenale. Mas não tardou a se desvencilhar da idéia, que lhe pareceu ridícula.
“Bom, eu vou ver o que Ruffolo tem para oferecer”, disse, achando-se parecido com um herói trapalhão de filme inglês.
“Se o senhor mudar de idéia, avise-me amanhã. À noite, eu estou em casa, é só telefonar.”
“Obrigado, Vianello. Mas acho que não é preciso. Obrigado mesmo.”
O policial acenou e voltou a se ocupar dos papéis na escrivaninha.
Já que ia bancar o herói da meia-noite, ainda que só no dia seguinte, Brunetti não viu mais nenhum motivo para ficar no escritório e deu o expediente por encerrado.
Quando ele chegou em casa, Paola lhe contou que havia conversado com os pais aquela tarde. Estavam bem, adorando a cidade que sua mãe insistia em dizer que se chamava Ischia. O único recado do conde para Brunetti era que já estava cuidando da questão e que tudo ficaria definitivamente solucionado no fim da semana. Mesmo sabendo que aquilo jamais ficaria definitivamente solucionado, Brunetti agradeceu a Paola a informação e pediu-lhe que mandasse lembranças aos pais quando voltasse a falar com eles.
O jantar foi estranhamente tranqüilo, principalmente devido ao comportamento de Raffaele. Ele parecia... parecia mais limpo — e Brunetti ficou assombrado ao pensar nessa palavra, posto que nunca lhe tivesse passado pela cabeça que seu filho fosse sujo. Tinha cortado o cabelo recentemente e seus jeans estavam com dois nítidos vincos nas pernas. Escutou sem objeção o que os pais diziam e, curiosamente, não disputou com Chiara o que restava do macarrão. Terminada a refeição, protestou um pouco quando lhe disseram que era a sua vez de lavar a louça, coisa que tranqüilizou o pai, mas se entregou à tarefa sem suspiros e resmungos de insatisfação, e esse silêncio levou Brunetti a perguntar a Paola: “Algum problema com Raffi?”. Estavam no sofá, e o silêncio que chegava da cozinha se espalhava por toda a sala.
Ela sorriu. “Esquisito, não? Será que é a calmaria que precede a tempestade?”
“Acho bom a gente trancar a porta do quarto à noite”, disse ele. Os dois riram, se bem que sem saber se era da observação ou da possibilidade de que aquilo tivesse passado. Para eles, assim como para os pais de todos os adolescentes, “aquilo” não precisava de esclarecimento: tratava-se da terrível e persistente nuvem de ressentimento e indignação que lhes invadia a existência com certos níveis hormonais e lá ficava até que esses níveis se alterassem.
“Ele quer que eu leia a dissertação que está escrevendo para o curso de inglês”, disse Paola. “Calma”, acrescentou ao ver a surpresa do marido. “Também quer um casaco novo agora no outono.”
“Novo? Comprado numa loja?”, perguntou Brunetti com espanto. E era o mesmo garoto que, quinze dias antes, havia condenado com muita veemência o sistema capitalista, acusando-o de criar falsas necessidades nos consumidores, de inventar a idéia da moda só para perpetuar a demanda de roupa nova.
Paola confirmou: “Novo. Comprado numa loja”.
“Eu não sei se estou preparado para isso. Será que nós vamos perder o nosso anarquista malcriado?”
“Acho que sim, Guido. O casaco que ele disse que quer está na vitrine da Duca D’Aosta e custa quatrocentas mil liras.”
“Pois diga a ele que Karl Marx nunca entrou na Duca D’Aosta. Ele que vá comprar na Benetton com o resto do proletariado.” Quatrocentas mil liras; Brunetti ganhara quase dez vezes isso no Casinò. Numa família de quatro, seria essa a parte que cabia a Raffi? Não, para um casaco, não. Aquilo devia ser a primeira rachadura no gelo, o começo do fim da adolescência. E o fim da adolescência significava que o passo seguinte era o início da maturidade. Maturidade.
“Você tem idéia de por que isso está acontecendo?”, perguntou. Caso lhe tenha ocorrido dizer que ele é que era a pessoa indicada para compreender o fenômeno da adolescência masculina, Paola não o fez. Sua resposta foi: “Hoje a signora Pizzutti conversou comigo na escada”.
Brunetti pousou nela um olhar intrigado, depois disse: “A mãe de Sara”.
Paola fez que sim. “Exatamente.”
“Oh, meu Deus! Não!”
“Sim, Guido, e ela é uma graça de menina.”
“Ele só tem dezesseis anos, Paola.” Brunetti notou o tom de lamúria em sua voz, mas não conseguiu evitá-lo.
Paola pousou a mão no braço dele, depois na própria boca, e caiu na gargalhada. “Oh, Guido, você precisava ter ouvido o que disse. ‘Ele só tem dezesseis anos.’ Não, eu não acredito.” E, de tanto rir, teve de se reclinar no braço do sofá.
“Fazer o quê?”, pensou ele, achar graça e contar piadas sujas? Raffaele era seu único filho e não tinha a menor noção do que havia por aí: aids, prostitutas, garotas prontas para engravidar e obrigá-lo a casar. Então, subitamente, Brunetti passou a ver tudo pelos olhos de Paola e riu até que os seus se enchessem de lágrimas.
Raffaele entrou na sala para pedir à mãe que o ajudasse com a lição de grego e, ao dar com os dois às gargalhadas, perguntou-se que diabo de conversa sobre a maturidade era aquela.
23
Ambrogiani não telefonou naquela noite nem no dia seguinte, e foi à custa de muito esforço que Brunetti resistiu à insistente tentação de ligar para a base norte-americana e entrar em contato com ele. Telefonou para Fosco, em Milão, mas foi atendido pela secretária eletrônica. Sentindo-se meio louco por falar com uma máquina, contou tudo que o maggiore lhe dissera sobre Gamberetto e pediu ao jornalista que tentasse descobrir mais alguma coisa e lhe telefonasse. Já não tendo o que fazer, examinou e comentou as fichas dos funcionários, leu os jornais e se deu conta de que só pensava no encontro com Ruffolo à meia-noite.
Já se dispunha a ir para casa almoçar quando o telefone tocou: linha interna. “Pois não, vice-questore”, disse automaticamente, preocupado demais para saborear o infalível desconcerto de Patta por ser reconhecido antes mesmo de se identificar.
“Brunetti, eu queria que você viesse um momento ao meu gabinete.”
“Imediatamente, senhor”, respondeu ele, abrindo mais uma ficha e começando a lê-la.
“É para descer já, comissário, não ‘imediatamente’”, rosnou o outro, com tanta seriedade que Brunetti compreendeu que devia estar com alguém no gabinete: uma pessoa importante.
“Sim, senhor. Neste instante”, respondeu e virou para baixo a página que estava lendo para retomar o trabalho quando voltasse. Depois do almoço, pensou. Aproximou-se da janela para ver se ainda estava ameaçando chover. Sobre a San Lorenzo, o céu se mostrava cinzento e ameaçador, e, no campo pequeno, as folhas das árvores revoluteavam ao sabor do vento. Ele resolveu apanhar um guarda-chuva no armário: tinha se esquecido de levar o seu de manhã. Abriu a porta e examinou a miscelânea habitual de objetos abandonados lá dentro: uma galocha amarela sem par, uma cesta cheia de jornais velhos, dois grandes envelopes acolchoados e um guarda-chuva cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Chiara o largara lá meses antes. Se não lhe falhava a memória, tinha enormes e sorridentes elefantes estampados, mas ele achou melhor não abri-lo para verificar. Só a cor já era uma vergonha. Procurou um pouco mais, empurrando as coisas delicadamente com o bico do sapato, mas não achou nenhum outro guarda-chuva.
Pegou aquele mesmo e voltou para a escrivaninha. Se o embrulhasse de comprido no La Repubblica, conseguiria esconder a maior parte, só ficaria aparecendo o cabo, o cabo e um palmo de plástico cor-de-rosa. Fez isso por fazer, saiu do escritório, desceu a escada e bateu à porta do gabinete. Esperou Patta gritar “Avanti” e entrou.
Normalmente o encontrava “entronado” — essa era a palavra que lhe ocorria — em sua majestosa escrivaninha, mas aquele dia deu com ele sentado numa das cadeiras menores em frente à mesa, à direita de um homem moreno que parecia totalmente à vontade, as pernas cruzadas, a mão pendendo frouxamente do braço da cadeira, um cigarro entre os dedos. Nenhum dos dois fez menção de se levantar ao vê-lo, mas o visitante descruzou as pernas e se inclinou para apagar o cigarro no cinzeiro de malaquita.
“Ah, Brunetti”, disse Patta. Por acaso ele esperava outra pessoa? Apontou para o visitante. “Este é o signor Viscardi. Veio passar o dia em Veneza e teve a gentileza de me trazer um convite para o banquete do Palazzo Pisani Moretta na semana que vem, e eu lhe pedi que ficasse mais um pouco. Pensei que ele gostaria de conversar com você.”
Levantando-se, Viscardi se aproximou com a mão estendida. “Eu quero muito agradecer o seu empenho neste caso, comissário.” Como Rossi havia observado, o homem falava com o “r” elidido de Milão, a consoante resvalava, impronunciável, em sua língua. Era alto, tinha olhos castanhos — uns olhos mansos e tranqüilos — e um sorriso relaxado. Abaixo do olho esquerdo, a pele estava um pouco descorada e parecia coberta com alguma coisa, talvez maquiagem.
Brunetti lhe apertou a mão e retribuiu o sorriso.
O vice-questore interferiu: “É uma pena, Augusto, mas acho que não houve muito progresso. Mesmo assim, creio que em breve teremos informações sobre os quadros”. Tratava Viscardi por “você”, intimidade que Brunetti, presumivelmente, devia registrar. E respeitar.
“Espero que sim. Minha esposa é muito ligada a esses quadros, principalmente ao Monet.” Isso lhe saiu com o entusiasmo de uma criança falando em brinquedos. Voltou a atenção e o charme para Brunetti. “Comissário, talvez o senhor possa me contar se tem alguma... acho que se chama ‘pista’, não? Eu queria muito levar boas notícias para casa.”
“Infelizmente, nós temos muito pouco a dizer, signor Viscardi. Passamos para os policiais as descrições que o senhor nos deu e enviamos cópias das fotografias dos quadros para a Polícia de Fraude Artística. Mas, fora isso, nada.” O signor Viscardi abriu um sorriso que deixou claro, para Brunetti, que ele não devia saber da tentativa de Ruffolo de contatar a polícia.
“Mas você não tem um suspeito?”, interrompeu Patta. “Eu me lembro de ter lido alguma coisa no seu relatório da conversa que Vianello ia ter com ele no fim de semana passado. Que aconteceu?”
“Um suspeito?”, interessou-se Viscardi, os olhos brilhando.
“Não deu em nada, senhor”, respondeu Brunetti, dirigindo-se ao superior. “Pista falsa.”
“Mas não era o homem da fotografia? Eu li o nome dele no relatório, mas esqueci.”
“Por acaso é a fotografia que o sargento me mostrou?”, quis saber o milanês.
“Parece que era uma pista falsa”, respondeu Brunetti com um sorriso contrito. “Acontece que não pode ter sido ele. Pelo menos, nós estamos convencidos de que esse sujeito não tem nada a ver com a história.”
“Eu acho que você está coberto de razão, Augusto”, disse o vice-questore, fazendo questão de tratá-lo pelo prenome. Virou-se para Brunetti e falou com voz muito firme. “O que você descobriu sobre os dois homens cuja descrição nós temos?”
“Infelizmente, nada, senhor.”
“Você checou...” Patta se interrompeu, e Brunetti ficou aguardando atentamente a sugestão que estava por vir. “Você checou as fontes habituais?” Os subordinados conheciam os detalhes.
“Oh, sim, senhor. Foi a primeira coisa que eu fiz.”
Viscardi puxou o punho engomado da camisa, consultou o reluzente relógio de ouro e, voltando-se para o vice-questore, disse: “Eu não quero atrasar o seu almoço, Pippo”. Ao ouvir o apelido do chefe, Brunetti se pôs a repeti-lo mentalmente, feito um mantra: Pippo Patta, Pippo Patta, Pippo Patta.
“Por que você não vem, Augusto?”, convidou ele, soberbamente alheio ao subordinado.
“Não, não, eu tenho de ir para o aeroporto. Minha esposa está me esperando para os coquetéis, e depois, você sabe, nós vamos receber convidados para o jantar.” Viscardi já devia ter enumerado os convidados, pois a mera lembrança do seu mágico poder foi suficiente para que Patta abrisse um dilatado sorriso e unisse as mãos, como que honradíssimo com a presença vicária de gente tão ilustre no seu modesto gabinete.
A seguir, consultou o seu próprio relógio, e Brunetti observou com que agonia ele se via obrigado a abandonar um homem rico e poderoso para almoçar com outro. “Sim, agora eu preciso ir. Não posso deixar o ministro esperando.” Não se dignou a desperdiçar o nome do ministro com Brunetti, e este se perguntou se era porque supunha que ele não se deixaria impressionar ou porque não o reconheceria. Pouco importava.
Patta abriu o armadio toscano do século xv, ao lado da porta, e pegou sua Burberry. Vestiu-a e, ato contínuo, foi ajudar o visitante a pôr o sobretudo. “O senhor também está de saída?”, perguntou Viscardi a Brunetti, que respondeu que sim. “É que o vice-questore vai almoçar em Corte Sconta, mas eu estou indo para San Marco tomar o barco do aeroporto. Por acaso o senhor vai na mesma direção?”
“Vou”, mentiu Brunetti.
Patta e Viscardi foram à frente até a porta principal da questura. Lá se despediram, e o vice-questore disse, vagamente, que teria algo a tratar com Brunetti depois do almoço. Ergueu a gola da capa de chuva, virou à esquerda e partiu às pressas. Viscardi foi para a direita, esperou que Brunetti se emparelhasse com ele e tomou o rumo da ponte dei Greci e de San Marco.
“Só espero que esse caso esteja logo encerrado”, disse para puxar conversa.
“É, eu também.”
“Sempre imaginei que esta cidade fosse mais segura do que Milão.”
“Tem razão, esse tipo de crime não é comum aqui.”
Viscardi parou um instante, olhou-o de esguelha e retomou a caminhada. “Antes de me mudar para cá, eu acreditava que nenhum crime era comum em Veneza.”
“Certamente todos eles são menos comuns aqui do que nas outras cidades, mas nós também temos crimes”, explicou Brunetti. “E criminosos”, acrescentou.
“Posso convidá-lo a tomar um aperitivo, comissário? Como vocês dizem aqui em Veneza, un’ ombra?”
“Isso mesmo, un’ ombra. Eu aceito.” Entraram imediatamente no bar pelo qual estavam passando, e Viscardi pediu dois copos de vinho branco. Quando foram servidos, entregou um a Brunetti e erguendo o seu, brindou: “Cin, cin”. Brunetti se limitou a balançar a cabeça.
O vinho era péssimo, de uma acidez corrosiva. Se estivesse sozinho, ele o teria largado no balcão. Mas tomou um gole e sorriu.
“Eu estive com o seu sogro na semana passada”, disse o milanês.
Brunetti já se havia perguntado quanto tempo o outro levaria para chegar a isso. Tomou mais um trago. “É mesmo?”
“Nós tínhamos de discutir umas coisas.”
“É mesmo?”
“Quando terminamos de falar de negócios, o conde mencionou o parentesco dele com o senhor. Confesso que fiquei surpreso no primeiro momento.” A julgar pelo tom de voz, Viscardi se surpreendera com o fato de o conde ter dado a mão da única filha a um policial, especialmente àquele. “Com a coincidência, entenda”, acrescentou um pouco tardiamente e tornou a sorrir.
“Claro.”
“Francamente, eu gostei de saber que o senhor é parente do conde.” Brunetti lhe dirigiu um olhar intrigado. O milanês explicou: “É que isso me dá a possibilidade de falar abertamente. Quer dizer, se o senhor permitir”.
“Fique à vontade.”
“Pois eu devo admitir que algumas coisas estão me irritando nessa investigação.”
“Como assim, signor Viscardi?”
“Em primeiro lugar”, disse ele, endereçando-lhe um sorriso de cândida amabilidade, “o tratamento que os seus policiais me dispensaram.” Calou-se um momento, sorveu um pouco do vinho, esboçou mais um sorriso, dessa vez, um sorriso conscientemente esboçado. “Posso falar com franqueza, comissário? Espero que sim.”
“Claro que pode. Eu não desejo outra coisa.”
“Então vou lhe dizer que, na ocasião, eu senti que os seus policiais me trataram mais como suspeito do que como vítima.” Ante o silêncio de Brunetti, ele prosseguiu. “Ou seja, aqueles dois foram ao hospital e me fizeram perguntas que nada tinham a ver com o crime.”
“E o que foi que perguntaram?”
“Um deles perguntou se eu sabia que quadros eram. Como se eu não fosse reconhecê-los. E o outro perguntou se eu reconhecia o rapaz da fotografia e ficou desconfiado quando eu disse que não.”
“Bom, isso já foi excluído. Ele não tem nada a ver com o caso.”
“Mas o senhor não tem nenhum outro suspeito?”
“Infelizmente, não”, respondeu Brunetti, curioso por saber por que Viscardi se dispusera tão rapidamente a perder o interesse pelo rapaz da fotografia. “Mas o senhor disse que várias coisas o estão incomodando, signor Viscardi. Essa é uma delas. Quais são as outras?”
O milanês aproximou o copo dos lábios, mas tornou a afastá-lo sem beber. “Eu soube que andaram fazendo perguntas a meu respeito e sobre os meus negócios.”
Fingindo surpresa, Brunetti arregalou os olhos. “Só espero que o senhor não suspeite que eu estou sondando a sua vida particular.”
De repente, o milanês pôs o copo quase cheio no balcão e disse com muita clareza: “Que lixo”. Vendo a surpresa de Brunetti, apressou-se a esclarecer. “O vinho, é claro. Acho que nós não escolhemos um bom lugar para beber.”
“Tem razão, não é grande coisa”, concordou Brunetti, colocando o copo vazio ao lado do de Viscardi.
“Eu repito, comissário: andam fazendo perguntas sobre os meus negócios. E isso não pode acabar bem. Lamento, mas se continuarem invadindo a minha privacidade, eu vou ser obrigado a pedir ajuda a certos amigos.”
“Que amigos, signor Viscardi?”
“Seria presunçoso da minha parte citar nomes. Mas é gente suficientemente bem colocada para impedir que eu seja vítima de perseguição burocrática. Se for esse o caso, pode ter certeza de que eles vão interferir e acabar com isso.”
“Isso parece uma ameaça, signor Viscardi.”
“Não seja melodramático, dottor Brunetti. É melhor tomar como uma sugestão. Aliás, uma sugestão com o aval do seu sogro. Eu sei que estou falando por ele quando digo que seria mais sensato parar com essas indagações. Repito, quem as fizer não vai acabar bem.”
“Duvido que eu possa esperar que alguma coisa relacionada com os seus negócios acabe bem, signor Viscardi.”
Bruscamente, sem perguntar o preço do vinho, o milanês tirou algumas notas do bolso e as jogou no balcão. Sem dizer uma palavra, deu meia-volta e foi para a porta do bar. Brunetti o seguiu. Chovia lá fora: o aguaceiro e a ventania do outono. Viscardi se deteve um instante, só o tempo necessário para erguer a gola do sobretudo. Sem uma palavra e sem sequer olhar para ele, saiu, enfrentando o temporal, e desapareceu na primeira esquina.
Brunetti ficou um momento à porta. Por fim, compreendendo que não lhe restava outra saída, desembrulhou o guarda-chuva, expondo-o aos olhos do mundo. Dobrou várias vezes a página do La Repubblica e saiu. Apertou o botão e, erguendo a vista, olhou para a proteção de plástico totalmente esticada: elefantes, elefantes rosados, alegres e saltitantes. Com o gosto ácido do vinho na boca, apressou-se a ir para casa almoçar.
24
À tarde, depois de exigir de Paola seu guarda-chuva preto, Brunetti retornou à questura. Passou cerca de uma hora cuidando da correspondência e saiu bem mais cedo, alegando um compromisso, muito embora o encontro estivesse marcado para dali a mais de seis horas. Chegando em casa, contou tudo à esposa. Esta, que já tinha ouvido falar em Ruffolo, concordou que aquilo não passava de uma tolice, um melodrama encenado por um pobre-diabo que passara dois anos na cadeia sem fazer outra coisa senão ver televisão. Brunetti, que não o via desde a ocasião em que fora depor contra ele, esperava encontrar o Ruffolo de sempre: bem-humorado, orelhudo e desleixado, com muita pressa de fazer o grande negócio de sua vida.
Às onze horas, saiu ao terraço, olhou para o céu e viu as estrelas. Meia hora depois, anunciou que estaria de volta mais ou menos à uma e aconselhou Paola a não ficar esperando. Caso o rapaz se entregasse, teria de levá-lo à questura e aguardar que prestasse o depoimento formal e assinasse a papelada, coisa que podia durar horas. Prometeu ligar se isso acontecesse, muito embora soubesse que ela estava tão habituada às suas ausências em horários estapafúrdios que, provavelmente, nem acordaria quando o telefone tocasse, e não valia a pena acordar as crianças.
O número cinco parava de circular às nove horas, de modo que só lhe restava ir a pé. Brunetti não se importou com isso, principalmente naquela noite esplendidamente enluarada. Como de costume, não prestou atenção no trajeto, simplesmente deixou que os pés o levassem pelo caminho mais curto, veteranos que eram de décadas de caminhada. Atravessou a Rialto, passou por Santa Marina e seguiu rumo a San Francesco della Vigna. Como sempre àquela hora, a cidade estava virtualmente deserta; ele passou por um guarda noturno, que colocava pequenos retângulos alaranjados nas grades das lojas, prova de que estivera lá durante a noite. Passou por um restaurante e viu a equipe de garçons, todos de paletó branco, aglomerados em volta de uma mesa, tomando a saideira antes de voltar para casa. E por muitos gatos. Gatos sentados, deitados, andando em ziguezague pelas fontes, passeando. Não se davam ao trabalho de caçar, embora não faltassem ratos. Não fizeram caso de Brunetti, sabiam exatamente quando as pessoas vinham alimentá-los e tinham certeza de que aquele desconhecido não era uma delas.
Percorreu o lado direito da igreja de San Francesco della Vigna, dobrou à direita e chegou à parada de vaporetto Celestia. Viu, claramente delineada à sua frente, a passarela com corrimão de metal e a escada que lhe dava acesso. Subiu-a e, ao chegar ao início da passagem elevada, olhou para a ponte que se erguia mais adiante, como a corcova de um camelo, acima da abertura, no muro do Arsenale, que permitia ao barco número cinco passar pelo meio da ilha e sair no Bacino de San Marco.
Era evidente que a ponte estava vazia. Nem mesmo Ruffolo seria idiota a ponto de se deixar ver pelos barcos que eventualmente passassem, ainda mais que sabia que a polícia estava no seu encalço. Com certeza, havia descido à prainha do outro lado da ponte. Brunetti seguiu em frente, sentindo certa irritação por estar lá, enfrentando o frio da noite, quando qualquer pessoa sensata ficaria em casa, de preferência na cama. Já que aquele maluco fazia tanta questão de falar com uma pessoa importante, que fosse conversar com Patta na questura.
Passou pela primeira prainha, com apenas alguns metros de comprimento, e olhou para baixo em busca de Ruffolo. O luar prateado lhe mostrou que lá não havia ninguém, mas também mostrou que o lugar estava repleto de entulho e cacos de vidro, tudo coberto por uma camada de algas verdes e limosas. Se o signorino Ruffolo achava que ele ia descer àquela praia imunda para bater papo, estava redondamente enganado. Já tinha perdido um par de sapatos aquela semana, não ia arruinar outro. Se quisesse mesmo conversar, que subisse na passarela ou, então, ficasse lá embaixo, mas falando bem alto para ser ouvido.
Brunetti subiu a escada da ponte de cimento, deteve-se um instante no alto e então desceu pelo outro lado. À frente, avistou a prainha, cuja extremidade oposta estava oculta pela curva da parede maciça do Arsenale, que se erguia dez metros acima de sua cabeça, à direita.
Parando a alguns metros da ilha, chamou em voz baixa: “Ruffolo. Sou eu, Brunetti”. Nenhuma resposta. “Peppino, sou eu.” Silêncio. O luar estava tão claro que projetava sombras, escondendo a parte da ilhota que ficava sob a passarela. Mas o pé era visível, um pé apenas, calçando sapato marrom, e em seguida parte de uma perna. Brunetti se debruçou no parapeito, mas não conseguiu ver senão o pé e o pedaço de perna que desaparecia na escuridão sob a passarela. Subindo no parapeito, saltou nas pedras lá embaixo, escorregou nas algas e aparou a queda com as duas mãos. Ao se levantar, pôde ver o corpo mais claramente, embora a cabeça e os ombros continuassem mergulhados na sombra. Não importava; ele sabia quem era. Um braço estava totalmente esticado, a mão à beira da água, delicadamente lambida pelas tênues ondas. O outro braço estava dobrado sob o corpo. Ele se agachou, tomou-lhe o pulso, mas não sentiu nada. A carne estava fria, embebida na umidade que subia da laguna, uma água tão suja que a mera idéia daquilo lhe causava repulsa.
Levantando-se, enxugou a mão no lenço, tirou uma lanterna minúscula do bolso e voltou a se agachar na passarela. O sangue escorria de uma grande ferida aberta do lado esquerdo da cabeça de Ruffolo. Não muito longe, havia uma pedra convenientemente colocada. Nada mais fácil de imaginar: era precisamente como se ele tivesse saltado da passarela, escorregado no limo e caído de costas, partindo a cabeça na queda. Brunetti não teve dúvida de que havia sangue na pedra, sangue de Ruffolo.
Ouvindo passos furtivos lá em cima, escondeu-se instintivamente debaixo da passarela. As pedras e os tijolos se deslocaram ruidosamente sob seus pés, denunciando-o. Ele se agachou mais e tratou de apoiar as costas no paredão coberto de algas do Arsenale. Tornou a ouvir os passos, agora bem acima de sua cabeça. Sacou a pistola.
“Comissário Brunetti!”
Ele perdeu o medo ao reconhecer a voz. “Vianello”, disse, saindo do esconderijo. “O que você está fazendo aqui?”
A cabeça do policial apareceu lá no alto, acima do parapeito, olhando para o lugar onde ele se encontrava, em meio aos escombros que cobriam a superfície da prainha.
“Eu o estou seguindo desde que o senhor passou pela igreja, há mais ou menos quinze minutos.” Brunetti não tinha percebido nada, embora acreditasse que estava com todos os sentidos em alerta.
“Você viu alguém?”
“Não, senhor. Fiquei lá, estudando o horário na parada, fingindo que tinha perdido o último barco e não sabia quando ia passar o próximo. É que eu precisava de uma desculpa para estar por aqui a esta hora da noite.” Vianello parou subitamente de falar, e Brunetti compreendeu que ele acabava de ver a perna estendida perto da passarela.
“É Ruffolo?”, perguntou com surpresa. Aquilo, sim, parecia um filme de Hollywood.
“Ele mesmo.” Afastando-se do cadáver, Brunetti se colocou diretamente abaixo do policial.
“O que aconteceu, senhor?”
“Está morto. Parece que caiu.” Fez uma careta para a certeza implícita em suas palavras. Era exatamente o que parecia ter acontecido.
Vianello estendeu a mão. “Quer que eu o ajude a subir, senhor?”
Brunetti olhou para ele, depois para a perna de Ruffolo. “Não, eu vou ficar aqui. Há um telefone público na parada Celestia. Vá chamar um barco.”
O outro se afastou rapidamente, surpreendendo-o com o barulho de seus passos, que ecoava em toda parte sob a passarela. Com que cautela devia ter chegado, já que só notara a presença do policial quando ele estava diretamente acima de sua cabeça.
Novamente sozinho, Brunetti tirou uma vez mais a lanterna do bolso e se curvou sobre o cadáver. Estava com um suéter grosso, sem casaco, de modo que os únicos bolsos eram os dos jeans. Num deles, havia uma carteira. Continha as coisas habituais: cédula de identidade (Ruffolo contava apenas vinte e seis anos), licença de motorista (não sendo veneziano, ele tinha uma), vinte mil liras e o acúmulo usual de cartões de plástico e pedaços de papel com números de telefone escritos à mão. Isso podia ser examinado mais tarde. Usava um relógio, mas não tinha dinheiro trocado nos bolsos. Brunetti tornou a guardar a carteira no lugar em que a encontrara e se afastou. Contemplou a água trêmula, na qual as luzes de Murano e Burano se refletiam ao longe. O luar incidia suavemente na superfície da laguna, e nenhum barco passava para lhe perturbar a paz. Um lençol inteiriço, reluzente, a ligar o continente às ilhas mais remotas. Coisa que lembrava um trecho que Paola lera para ele uma vez, na noite em que lhe contara que estava grávida de Raffaele, alguma coisa que falava em ouro moído até ficar finíssimo. Não, finíssimo não, até ficar diáfano, impalpável; era assim que eles se amavam. Brunetti não o compreendera bem na ocasião, estava por demais entusiasmado com a notícia para querer decifrar um texto em inglês. Mas a imagem o afetava agora, vendo o luar espalhado na laguna feito prata pulverizada. E Ruffolo, coitado, o tolo Ruffolo estendido ao seu lado, morto.
O ruído chegou primeiro, só depois o barco apareceu, saindo do rio di Santa Giustina, a luz azul a girar na frente da cabine. Brunetti acendeu a lanterna e fez sinal, orientando-o na aproximação da praia. Tendo o barco chegado o mais perto possível, dois policiais tiveram de pôr altas galochas e ir para a ilha a vau. Levaram um par para Brunetti, que as calçou por cima dos sapatos e da calça. Ficou esperando a chegada dos outros, preso ali com Ruffolo, com a morte e com o cheiro de algas podres.
O ritual de tirar as fotografias, remover o corpo e escrever relatórios na questura terminou às três da madrugada. Ele estava se preparando para ir embora quando Vianello entrou e pôs na mesa uma lauda cuidadosamente datilografada. “Se o senhor tiver a gentileza de assinar”, disse, “eu providencio para que seja encaminhado.”
Brunetti passou os olhos pelo papel e viu que era um relatório completo do plano de se encontrar com Ruffolo, mas tudo formulado no futuro. Datado do dia anterior, endereçava-se a Patta.
Anos antes, uma das normas impostas pelo vice-questore, ao tomar posse do cargo, obrigava os três comissários a lhe entregarem, antes das sete e meia da noite, um relatório completo do que tinham feito e do que planejavam fazer no dia seguinte. Como Patta nunca ficava na questura até tão tarde e jamais aparecia antes das dez da manhã, seria facílimo pôr o documento na escrivaninha dele, a não ser pelo fato de só existirem duas chaves do gabinete. Uma ficava no chaveiro de ouro que ele levava preso à última casa de botão do colete dos ternos ingleses que envergava. A outra ficava em poder do tenente Scarpa, siciliano de rosto curtido que ele trouxera de Palermo e que lhe devotava uma lealdade canina. Scarpa era o encarregado de trancar o gabinete às sete e meia da noite e de abri-lo às oito e meia da manhã, tomando o cuidado de examinar o que havia na escrivaninha do chefe.
“Eu agradeço muito, Vianello”, disse Brunetti ao ler os dois primeiros parágrafos do relatório, que explicavam minuciosamente por que ele ia se encontrar com Ruffolo e por que achava importante informar o vice-questore. Sorriu com desânimo e o devolveu sem ler o resto. “Mas é impossível evitar que ele descubra que eu fiz isso por minha conta e risco, que não tinha a menor intenção de informá-lo.”
O policial permaneceu imóvel. “Se o senhor assinar, eu cuido do resto.”
“O que você vai fazer com isso, Vianello?”
Sem se importar com a pergunta, o outro disse: “Ele me deixou dois anos cuidando só de arrombamentos, não é mesmo, senhor? Por mais que eu pedisse para ser transferido”. Bateu o dedo no papel. “É só assinar, comissário: isto vai estar na mesa dele amanhã cedo.”
Brunetti assinou o documento. “Obrigado, sargento. Vou avisar minha mulher para procurar você na próxima vez em que ficar trancada do lado de fora do apartamento.”
“Pode deixar comigo. Boa noite, senhor.”
25
Mesmo sem ter conseguido dormir antes das quatro da madrugada, Brunetti chegou à questura às dez horas em ponto. Encontrou bilhetes, na escrivaninha, comunicando que a autópsia de Ruffolo estava marcada para aquela tarde, que a mãe já tinha sido informada da morte e que o vice-questore o queria no gabinete assim que chegasse.
Patta trabalhando antes das dez. As hostes celestiais que o proclamassem!
Quando ele entrou no gabinete, o superior o encarou e até pareceu sorrir, impressão que Brunetti atribuiu ao sono atrasado. “Bom dia, comissário. Sente-se, por favor. Não precisava ter chegado tão cedo depois da sua façanha da noite passada.” Façanha?
“Obrigado, senhor. É bom vê-lo aqui tão cedo.”
O vice-questore fingiu não ter ouvido a observação e continuou sorrindo. “Você agiu muito bem com esse tal Ruffolo. Que bom que enfim passou a ver a coisa à minha maneira.”
Sem ter idéia do que ele estava querendo dizer, Brunetti achou melhor ser discreto. “Obrigado, senhor.”
“Com isso, o caso fica encerrado, não? Quer dizer, não obtivemos uma confissão, mas acho que o procuratore vai encarar o caso do mesmo modo que nós e acreditar que Ruffolo queria barganhar. Foi uma loucura levar a prova até lá, mas tenho certeza de que ele pensou que você só queria conversar.”
Não havia quadro nenhum na prainha, disso Brunetti tinha certeza. Mas Ruffolo podia ter escondido parte das jóias da signora Viscardi em algum lugar. Ele se limitara a revistar os bolsos, de modo que não era impossível.
“Onde estava?”, perguntou.
“Na carteira dele, comissário. Não me diga que você não viu. Consta na lista de coisas que estavam com ele quando encontramos o corpo. Você não ficou para fazer a lista?”
“O sargento Vianello se encarregou disso, senhor.”
“Entendo.” Ao primeiro sinal de uma cochilada de Brunetti, a disposição de Patta açucarou-se ainda mais. “Quer dizer que você não viu?”
“Não, senhor. Lamento, mas não vi. A iluminação, lá, era péssima.” Aquilo estava começando a fazer sentido. Não havia jóia nenhuma na carteira de Ruffolo, a menos que ele a tivesse vendido por vinte mil liras.
“Hoje os americanos vão mandar uma pessoa dar uma olhada, mas eu acho que não há dúvida. O nome de Foster está escrito com todas as letras, e Rossi diz que a fotografia se parece com ele.”
“É o passaporte?”
Patta dilatou o sorriso. “A carteira de identificação militar.” Claro. Os cartões de plástico na carteira de Ruffolo, os quais ele tornara a guardar sem se preocupar em examiná-los. O vice-questore prosseguiu: “É a prova segura de que foi Ruffolo que o matou. O americano deve ter feito um movimento em falso. A pior coisa que se pode fazer quando o outro está com uma faca na mão. E Ruffolo entrou em pânico, acabava de sair da cadeia”. Sacudiu a cabeça, reprovando a impulsividade dos criminosos.
“Por coincidência, o signor Viscardi me telefonou ontem à tarde, dizendo que é possível que o rapaz da fotografia seja o mesmo que entrou em sua casa naquela noite. Explicou que, no momento, estava muito transtornado para raciocinar com clareza.” Comprimiu os lábios em sinal de desagrado. “E eu tenho certeza de que o tratamento que recebeu nas mãos dos seus policiais não contribuiu para que ele se lembrasse.” Mudando de expressão, renovou o sorriso. “Mas isso é coisa do passado, e o senhor Viscardi certamente não guarda ressentimento. Portanto, parece que os turistas belgas tinham razão: Ruffolo participou do assalto. Imagino que não conseguiu tirar muito dinheiro do americano e resolveu dar um golpe mais lucrativo.”
Patta se entusiasmou. “Eu já falei com a imprensa. Expliquei que nós nunca tivemos dúvida. O assassinato do americano foi uma casualidade. E agora, graças a Deus, ficou provado.” Vendo-o atribuir com tanta segurança a morte de Foster a Ruffolo, Brunetti compreendeu que a da dra. Peters seria considerada, definitivamente, uma overdose acidental.
Só lhe restou investir contra a muralha da certeza do superior. “Mas por que ele se arriscaria a andar por aí com o documento do americano no bolso? Isso não tem sentido.”
Patta revidou de pronto. “De você, ele podia fugir facilmente, comissário, de modo que não havia possibilidade de encontrarem aquilo. Ou vai ver que esqueceu.”
“É muito raro um criminoso esquecer uma prova que o vincula a um homicídio.”
O vice-questore não fez caso da observação. “Eu declarei à imprensa que, desde o começo, nós tínhamos motivos para suspeitar que Ruffolo havia matado o americano, por isso você quis conversar com ele. Provavelmente, ficou com medo de que descobríssemos e resolveu barganhar um crime menos leve. Ou talvez pretendesse culpar outra pessoa pela morte do soldado. O fato de estar com o documento da vítima na carteira não deixa a menor dúvida: foi ele que o matou.” De uma coisa Brunetti tinha certeza: aquilo eliminava todas as dúvidas. “Afinal, foi por isso que você foi se encontrar com ele, não?”, perguntou Patta. “Por causa do americano?” Ante o silêncio do subordinado, insistiu. “Não é, comissário?”
Brunetti desconsiderou a questão com um gesto e perguntou: “O senhor disse isso ao procuratore?”.
“Claro que disse. O que você acha que eu fiquei fazendo a manhã inteira? E ele também está convencido de que é um caso encerrado. Ruffolo matou o americano num assalto, depois tentou conseguir mais dinheiro entrando no palazzo de Viscardi.”
Pela última vez, Brunetti tentou pôr em dúvida o sentido daquela versão. “São crimes muito diferentes: assalto à mão armada e roubo de obras de arte.”
O vice-questore elevou o tom de voz. “Há provas de que ele estava envolvido nos dois delitos, comissário. A carteira de identidade e as testemunhas belgas. Antes você estava mais do que inclinado a acreditar nelas, quando disseram que tinham visto Ruffolo na noite do crime. E agora o signor Viscardi acha que se lembra de Ruffolo. Pediu para ver a fotografia outra vez e, se o reconhecer, não haverá mais dúvida. São provas mais do que suficientes para mim e mais do que suficientes para convencer o procuratore.”
Empurrando a cadeira bruscamente, Brunetti se levantou. “Mais alguma coisa, senhor?”
“Eu imaginei que você fosse ficar mais contente, comissário”, disse Patta, verdadeiramente surpreso. “Isso encerra o caso do americano, mas torna mais difícil encontrar e providenciar a devolução dos quadros do signor Viscardi. Você não chega a ser um grande herói, já que não conseguiu prender Ruffolo. Tenho certeza de que o prenderia se ele não tivesse caído da passarela. Eu citei o seu nome na entrevista à imprensa.”
Aquilo, provavelmente, lhe doía mais do que entregar o próprio filho a Brunetti. Mas o presente estava dado. “Obrigado, senhor.”
“Naturalmente, deixei claro que você estava seguindo as minhas instruções, entende? Que eu suspeitei de Ruffolo desde o começo. Afinal de contas, ele tinha saído da prisão apenas uma semana antes de matar o americano.”
“Sim, senhor.”
O vice-questore sacudiu a cabeça. “É uma pena não termos encontrado os quadros do signor Viscardi. Hoje eu vou me encontrar com ele para lhe contar tudo pessoalmente.”
“Ele está aqui?”
“Está. Ontem, quando nós conversamos, ele disse que hoje viria a Veneza. Vem aqui dar mais uma olhada na fotografia. E, como eu já disse, isso eliminará todas as dúvidas.”
“O senhor acha que ele vai ficar aborrecido porque nós não recuperamos os quadros?”
“Oh”, fez Patta como se já tivesse pensado no assunto. “Claro que vai. Qualquer um que tenha uma coleção dessas fica chateado. Para certas pessoas, a arte é uma coisa viva.”
“É, acho que é isso que Paola sente por aquele Canaletto.”
“Aquele o quê?”
“Canaletto. Um pintor veneziano. O tio dela nos deu um quadro dele. Presente de casamento. Não é muito grande, senhor. Mas ela o adora. Eu vivo dizendo que é melhor pendurá-lo na sala, mas ela prefere deixá-lo na cozinha.” Podia não ser uma grande vingança, mas já era alguma coisa.
Patta falou com a voz sufocada. “Na cozinha?”
“É. Que bom que o senhor também acha esse lugar esquisito. Vou contar a ela que essa é a sua opinião. Bom, eu preciso ver o que Vianello está fazendo. Ele ficou de providenciar umas coisas para mim.”
“Ótimo, comissário. Parabéns pelo trabalho. O signor Viscardi ficou satisfeitíssimo.”
“Obrigado, senhor”, disse Brunetti já a caminho da porta.
“Ele é amigo do prefeito, você sabe.”
“Ah! Não, eu não sabia, senhor.” Mas devia saber.
Lá embaixo, Vianello estava em seu lugar à escrivaninha. Sorriu ao ver Brunetti chegar. “Ouvi dizer que o senhor é o herói do dia.”
“O que mais estava escrito no papel que eu assinei ontem?”
“Que o senhor suspeitava que Ruffolo estava envolvido com a morte do americano.”
“Isso é ridículo. Você conhecia Ruffolo muito bem. Era capaz de sair correndo se gritassem com ele.”
“Ele passou dois anos na cadeia, senhor. Pode ser que tenha mudado.”
“Você acredita mesmo?”
“É possível, senhor.”
“Não foi isso que eu perguntei, Vianello. Quero saber se você acredita que foi ele.”
“Se não foi, como é que o documento do americano foi parar na carteira dele?”
“Então você acredita?”
“Acredito. Pelo menos acho possível. Por que o senhor duvida, comissário?”
Por causa da advertência do conde — só agora Brunetti compreendia que o recado era aquele —, a conexão entre Gamberetto e Viscardi. E só agora percebia que a ameaça de Viscardi não se referia à investigação do roubo no palazzo. Ele o havia ameaçado para que parasse de investigar a morte dos americanos, homicídios com os quais o pobre e incompetente Ruffolo nada tinha a ver, homicídios que, agora ele sabia, ficariam eternamente impunes.
Seu pensamento passou dos americanos para Ruffolo e finalmente chegou ao que lhe parecia mais importante. Ele assaltou o palazzo, fez exatamente o que o figurão mandou, usou um pouco de truculência, embora esse não fosse o seu estilo. Quando teria descoberto que o signor Viscardi estava envolvido em coisa muito pior do que o roubo de seus próprios quadros? Ele havia falado em três coisas que interessariam a Brunetti — as quais este pensou que fossem os quadros —, no entanto, em sua carteira só fora encontrada uma. Quem a teria colocado lá? Acaso Ruffolo se apoderara, sabe-se lá como, do documento do americano e o guardara como peça de barganha na conversa que teria com Brunetti? Ou, pior, será que tinha cometido a loucura de ameaçar Viscardi com as coisas que sabia e com o que elas significavam? Ou não passava de um mero inocente, um laranja, um dos incontáveis peões no jogo, como Foster e Peters, usados durante algum tempo e descartados assim que ficaram sabendo de alguma coisa capaz de ameaçar os jogadores importantes? Acaso o cartão tinha sido plantado em sua carteira pela mesma pessoa que usara a pedra para matá-lo?
Vianello continuava sentado à sua frente, fitando-o com estranhamento, mas não havia resposta para dar, nenhuma em que Brunetti acreditasse. E, já que era praticamente um herói, subiu ao escritório, fechou a porta e passou uma hora olhando pela janela. Enfim, tinham aparecido alguns operários nos andaimes da San Lorenzo, mas era impossível saber o que estavam fazendo. Nenhum se atrevia a subir ao telhado, e as telhas continuavam intactas. Tampouco pareciam transportar ferramentas. Ficavam passeando nos vários andaimes, subiam e desciam as escadas de mão que os interligavam, reuniam-se, conversavam, depois se dispersavam e tornavam a subir e descer. Era como observar a atividade incessante das formigas: parecia ter um objetivo, mas nenhum ser humano conseguia entender qual era.
O telefone tocou, e ele se afastou da janela para atender: “Brunetti”.
“Comissário Brunetti, aqui é o maggiore Ambrogiani, da base americana de Vicenza. Nós nos encontramos, há algum tempo, por causa da morte daquele soldado americano em Veneza.”
“Ah, sei, maggiore”, disse ele após um intervalo longo o suficiente para dar a impressão, para quem eventualmente estivesse na escuta, de que não se lembrava bem do carabiniere. “Em que posso servi-lo?”
“O senhor já me serviu, comissário Brunetti. Pelo menos prestou um grande serviço aos meus colegas americanos descobrindo quem matou o rapaz. Eu estou telefonando para agradecer, pessoalmente, e também em nome das autoridades americanas aqui na base.”
“Oh, quanta gentileza, maggiore. Muito obrigado. É claro que tudo que nós pudermos fazer pelos Estados Unidos, principalmente pelo seu governo, será um prazer.”
“O senhor diz bem, comissário. Vou fazer o possível para lhes transmitir fielmente suas palavras.”
“Faça-me esse favor, maggiore. E eu posso lhe ser útil em mais alguma coisa?”
“Torça por mim”, respondeu Ambrogiani com um riso artificial.
“Com todo o prazer, maggiore. Mas por quê?”
“Eu fui transferido.”
“Para onde?”
“Para a Sicília.” O carabiniere disse o nome do lugar com voz absolutamente neutra, sem nenhuma emoção.
“Ah, que sorte a sua. Eu ouvi dizer que o clima lá é excelente. Quando o senhor viaja?”
“Este fim de semana.”
“Já? E vai levar a família?”
“Infelizmente, não é possível. Eu vou comandar uma unidade pequena, nas montanhas, e não dá para levar a família.”
“Ah, que pena, maggiore.”
“Bom, são os ossos do ofício, imagino.”
“Tem razão. Mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo?”
“Não, comissário. Uma vez mais, muito obrigado, em meu nome e dos meus colegas americanos.”
“Eu é que agradeço, caro maggiore. E muita sorte”, disse Brunetti: as únicas palavras sinceras que proferiu em toda a conversa. Desligando, voltou a examinar os andaimes. Já não havia nenhum operário. Acaso também tinham sido transferidos para a Sicília? Quanto tempo era possível sobreviver lá? Um mês? Dois? Brunetti não sabia quanto tempo faltava para que Ambrogiani se aposentasse. Só esperava que ele vivesse para tanto.
Voltou a pensar naqueles três jovens, todos eles vítimas de morte violenta, peões removidos por mão cruel. Até então, a mão podia ser apenas a de Viscardi, mas a transferência de Ambrogiani significava que outros jogadores bem mais poderosos estavam envolvidos, jogadores capazes de removê-los — a ele e a Ambrogiani — do tabuleiro com a mesma facilidade. Brunetti recordou o que estava escrito naqueles sacos plásticos mortíferos: “Propriedade do Governo dos Estados Unidos”. E estremeceu.
Não precisou procurar o endereço no arquivo. Saiu da questura e tomou o rumo da Rialto, sem nada ver, alheio aos lugares por onde passava. Ao chegar, sem ânimo para seguir a pé, esperou o vaporetto número um e desceu na segunda parada, San Stae. Embora estivesse lá pela primeira vez, seus passos o levaram aonde queria ir; Vianello lhe explicara onde era — parecia que fazia meses. Tocou a campainha, identificou-se, e a porta se abriu.
O pátio interno era pequeno, sem nenhuma planta; a escada que dava no primeiro andar, tristemente cinzenta. Ele subiu e ergueu a mão para bater na porta, mas Viscardi a abriu antes.
A marca perto do olho estava mais leve, quase invisível. O sorriso, porém, continuava o mesmo. “Que surpresa agradável, comissário. Vamos entrar.” Estendeu a mão, mas, como Brunetti não a aceitou, baixou-a com naturalidade, aproveitando o movimento para fechar a porta.
Brunetti entrou no hall. Tinha muita vontade de esmurrar aquele homem, de agredi-lo fisicamente, de machucá-lo. No entanto, acompanhou-o a um salão amplo, arejado, que dava para uma espécie de quintal.
“Em que posso servi-lo, comissário?”, perguntou o milanês, ainda mantendo a cortesia, mas não a ponto de convidá-lo a se sentar ou de lhe oferecer uma bebida.
“Onde o senhor estava ontem à noite, signor Viscardi?”
Sorrindo, este pousou nele um olhar sereno, acolhedor. Não se mostrou surpreso com a pergunta. “Eu estava onde qualquer homem decente deve estar à noite, dottore: em casa, com a minha mulher e os meus filhos.”
“Aqui?”
“Não, em Milão. E, antecipando-me à sua próxima pergunta, informo que outras pessoas estavam presentes, dois convidados e três empregados.”
“Quando o senhor chegou a Veneza?”
“De manhã, no primeiro avião.” Viscardi tornou a sorrir e, enfiando a mão no bolso, tirou um cartão azul. “Ah, que sorte, ainda estou com o cartão de embarque. Quer examiná-lo, comissário?”
Brunetti não fez caso do gesto. “Nós encontramos o rapaz da fotografia.”
“O rapaz?”, perguntou o outro, como se não soubesse de quem ele estava falando. “Ah, sim, o jovem delinqüente cujo retrato o seu sargento me mostrou. O vice-questore Patta lhe contou que agora eu acho que me lembro?” Não obtendo resposta, prosseguiu. “Quer dizer que vocês o prenderam? Se isso significa que vão recuperar os quadros, minha esposa vai ficar contente.”
“Ele morreu.”
“Morreu?” Surpreso, Viscardi arqueou as sobrancelhas. “Que pena. Foi morte natural?” Fez uma pausa, como que avaliando a pergunta seguinte. “Terá sido overdose? Ouvi dizer que isso é muito comum, principalmente com os jovens.”
“Não, não foi overdose. Ele foi assassinado.”
“Puxa, eu lamento, mas isso tem acontecido muito por aqui, não?” Sorriu do próprio gracejo. “Afinal, foi ele o responsável pelo assalto aqui?”
“Alguns indícios dizem que sim.”
Viscardi semicerrou as pálpebras, decerto para dar a impressão de que estava começando a entender. “Então foi ele mesmo que eu vi aquela noite?”
“Sim, o senhor o viu.”
“Então eu vou reaver logo os quadros?”
“Não.”
“Ah, que pena. Minha mulher vai ficar decepcionada.”
“Nós temos indícios de que ele estava ligado a outro crime.”
“É mesmo? Que crime?”
“O assassinato de um soldado americano.”
“Então o senhor e o vice-questore Patta devem estar satisfeitos por terem resolvido esse caso também.”
“O vice-questore está.”
“O senhor não? Por quê, comissário?”
“Porque não foi ele que o matou.”
“O senhor parece ter muita certeza disso.”
“Eu tenho muita certeza.”
Viscardi esboçou mais um sorriso, bem leve dessa vez. “Comissário, eu acho que ficaria mais contente se o senhor tivesse a mesma certeza de que encontraria os meus quadros.”
“Garanto que vou, signor Viscardi.”
“Isso me anima.” Erguendo o punho da camisa, o milanês consultou rapidamente o relógio. “Mas eu preciso pedir licença. Estou esperando uns amigos que vêm almoçar. Depois tenho uma reunião de negócios e preciso estar na estação.”
“A reunião não é em Veneza?”
Um sorriso de satisfação brilhou nos olhos de Viscardi. “Não, comissário. Não é em Veneza. É em Vicenza.”
Brunetti levou a raiva para casa e com ela ficou à mesa do jantar. Tentou responder às perguntas da mulher e dos filhos, procurou prestar atenção no que diziam, porém, em meio ao relato de Chiara do que sucedera na sala de aula aquela manhã, viu o sorriso maligno e triunfante de Viscardi; quando Raffi sorriu ao ouvir o que Paola acabava de dizer, Brunetti recordou o sorriso tolo, contrito, de Ruffolo, dois anos antes, quando tirara a tesoura da mão erguida da mãe e lhe pedira que entendesse que o comissário só estava cumprindo o seu dever.
Sabia que o corpo de Ruffolo seria devolvido à signora Concetta aquela tarde, tão logo concluíssem a autópsia e determinassem a causa mortis. Não tinha dúvidas quanto ao resultado: a marca da pancada na cabeça corresponderia exatamente à configuração da pedra encontrada ao lado do cadáver na prainha; como constatar se o ferimento se devia a uma queda ou a um golpe aplicado de outro modo? E quem se importaria com isso, já que a morte do rapaz deixava tudo tão bem resolvido? Era possível que, como no caso da dra. Peters, detectassem vestígios de álcool no sangue dele, coisa que reforçaria ainda mais a hipótese da queda. O caso de Brunetti estava solucionado. Aliás, os dois estavam solucionados, pois se revelara que o assassino do americano era, muito fortuitamente, o ladrão das obras de arte de Viscardi. Com esse pensamento, ele se levantou e, alheio aos três pares de olhos que o acompanhavam, afastou-se. Sem dar explicação, saiu de casa e rumou para o Hospital Civil, onde sabia que o corpo de Ruffolo estava.
Chegando ao Campo San Giovanni e Paolo, íntimo, demasiado íntimo, do lugar aonde estava indo, foi para os fundos do hospital, quase sem ver as pessoas ao redor. Ao passar pelo setor de radiologia e entrar no corredor estreito que dava no de patologia, não pôde continuar alheio às pessoas, tantas eram as que ali se aglomeravam. Não iam a parte alguma, simplesmente estavam no corredor, em pequenos grupos, as cabeças unidas, conversando em voz baixa. Alguns vestiam pijama e roupão, eram os pacientes; outros estavam de terno; e também não faltavam atendentes de uniforme branco. À porta fechada do departamento de patologia, ele avistou uma farda conhecida: era Rossi quem estava ali postado, a mão erguida num gesto destinado a impedir que a multidão se aproximasse.
“Que houve, Rossi?”, perguntou, abrindo caminho na aglomeração.
“Não sei ao certo, senhor. Telefonaram, há mais ou menos meia hora, dizendo que uma velha da casa de repouso, ao lado, havia enlouquecido e estava quebrando tudo. Vim para cá com Vianello e Miotti. Eles entraram, e eu fiquei aqui fora, tentando impedir essa gente de entrar.”
Brunetti passou por ele e abriu a porta do departamento de patologia. Lá dentro, a cena era extraordinariamente parecida com a do lado de fora, grupos e grupos de pessoas conversando de cabeça baixa. No entanto, todas elas trajavam o uniforme branco da equipe do hospital. Aos ouvidos de Brunetti chegaram palavras soltas, fragmentos de frases. “Impazzita”, “terribile”, “che paura”, “viecchiaccia”. Aquilo por certo correspondia ao que Rossi havia dito, mas estava longe de informá-lo do que havia ocorrido.
Ele se dirigiu à porta que dava acesso aos consultórios. Ao vê-lo, um dos atendentes se separou do grupo de pessoas com quem estava conversando e o interceptou. “Não pode entrar. A polícia está aí.”
“Eu sou da polícia”, disse Brunetti, desviando-se dele.
“Só se o senhor se identificar”, respondeu o outro, espalmando a mão no peito do comissário.
Essa interferência reacendeu todo o ódio que ele tinha de Viscardi; desvencilhando-se com um safanão, Brunetti cerrou involuntariamente os punhos. O homem retrocedeu, e esse movimento insignificante foi suficiente para que ele se recompusesse. Abrindo os dedos com esforço, pôs a mão no bolso, tirou a carteira e mostrou as credenciais. O pobre coitado só estava cumprindo o dever.
“Eu estou cumprindo o meu dever, senhor”, justificou-se o rapaz, e, voltando-se, abriu a porta e lhe deu passagem.
“Obrigado”, disse Brunetti ao entrar, mas sem olhar para ele.
Lá dentro, viu Vianello e Miotti do outro lado da sala. Estavam ocupados com um homem baixo que, sentado numa cadeira, segurava uma toalha na cabeça. Com a caderneta de anotações na mão, Vianello parecia interrogá-lo. Quando Brunetti se acercou, os três o encararam. Ele reconheceu o terceiro homem, o dr. Ottavio Bonaventura, assistente de Rizzardi. O jovem médico o cumprimentou com um gesto, fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás, comprimindo a toalha na testa.
“Que aconteceu?”
“É o que nós estamos tentando descobrir, senhor”, respondeu Vianello, apontando com o queixo para Bonaventura. “Faz cerca de meia hora que a enfermeira lá do balcão nos chamou”, disse, aparentemente referindo-se à recepcionista. “Contou que uma louca havia agredido um dos médicos, por isso nós viemos para cá o mais depressa possível. Parece que os atendentes não conseguiram dominá-la, embora fossem dois.”
“Três”, corrigiu Bonaventura sem abrir os olhos.
“Mas o que aconteceu?”
“Nós não sabemos, senhor. É o que estamos tentando descobrir. Ela não estava mais aqui quando chegamos, e eu não sei se os atendentes a levaram embora. Não sei de nada”, disse ele, sem procurar ocultar a irritação. Três homens e não conseguiram dominar uma mulher.
“Dottor Bonaventura, pode nos contar o que aconteceu?”, perguntou Brunetti. “O senhor está bem?”
Tentando esboçar um gesto afirmativo, o médico tirou a toalha da cabeça. Brunetti viu um talho fundo e ensangüentado que saía da sobrancelha e desaparecia no couro cabeludo bem acima da orelha. Bonaventura revirou a toalha e, encontrando uma parte ainda limpa, tornou a pressioná-la na ferida.
“Eu estava ali, à escrivaninha”, explicou, sem ver necessidade de apontar para a única que havia na sala, “fazendo umas anotações, e, de repente, aquela velha entrou aqui, aos berros, completamente fora de si. Veio para cima de mim com uma coisa na mão. Não sei o que era; talvez uma bolsa. Não parava de gritar, mas eu não sei o que dizia. Não dava para entender ou, então, eu estava muito surpreso. Ou assustado.” Tornou a virar a toalha; a ferida não parava de sangrar.
“Chegou à escrivaninha e me bateu, depois começou a rasgar todos os papéis. Foi quando os atendentes entraram, mas ela estava furiosa, histérica. Derrubou um deles e, logo depois, o outro tropeçou no colega que estava no chão e também caiu. O resto eu não vi, pois estava com sangue no olho. Mas, quando o enxuguei, ela havia desaparecido. Os dois atendentes continuavam aqui, no chão, mas a velha tinha ido embora.”
Brunetti olhou para Vianello, que respondeu: “Não, senhor. Lá fora ela não está. Simplesmente sumiu. Eu falei com os dois atendentes, mas ninguém sabe aonde a mulher foi parar. Telefonamos para a Casa di Riposo para ver se alguém tinha fugido de lá, mas não. Eles estavam em horário de almoço, de modo que foi fácil contá-los”.
Brunetti voltou a atenção para Bonaventura. “O senhor tem alguma idéia de quem ela era, dottore?”
“Não. Nenhuma. Nunca a vi mais gorda. Não sei como entrou aqui.”
“O senhor estava examinando os pacientes?”
“Não, eu já disse que estava escrevendo, fazendo umas anotações. E duvido que ela tenha entrado pela sala de espera. Acho que veio de lá”, disse o médico, apontando para a porta do outro lado da sala.
“O que é aquilo?”
“O necrotério. Fazia meia hora que eu tinha terminado o trabalho e estava fazendo minhas anotações.”
Na confusão da história de Bonaventura, Brunetti acabou esquecendo a raiva. Agora, estava subitamente frio, arrepiado até os ossos, mas o sentimento que o dominava era outro.
“Como ela era, dottore?”
“Uma velha gorda, toda de preto.”
“Que anotações o senhor estava fazendo?”
“Eu já disse, da autópsia.”
“Que autópsia?”, perguntou Brunetti, embora soubesse que era desnecessário.
“Como era o nome dele? O rapaz que trouxeram ontem à noite. Rigetti? Ribelli?”
“Não, dottore. Ruffolo.”
“Isso mesmo, Ruffolo. Eu tinha terminado pouco antes. Ele já estava todo costurado. A família devia vir buscá-lo às duas, mas eu terminei um pouco mais cedo e estava anotando os dados antes de iniciar a autópsia seguinte.”
“O senhor se lembra de alguma coisa que ela disse, dottore?”
“Eu disse que não consegui entender.”
“Por favor, pense um pouco, dottore”, pediu Brunetti, esforçando-se para falar com calma. “Pode ser importante. Uma palavra? Uma frase.” Ante o silêncio de Bonaventura, ele insistiu. “Ela falava italiano?”
“Mais ou menos. Algumas palavras eram italianas, o resto, dialeto, o pior que eu já ouvi.” Já não havia um lugar limpo na toalha do médico. “Acho melhor fazer um curativo nisto”, disse ele.
“Só um instante, dottore. O senhor não entendeu nenhuma palavra?”
“Bom, claro, ela gritava ‘Bambino, bambino’, mas o filho não podia ser aquele rapaz, a mulher era muito velha para ser mãe dele.” Não era, mas Brunetti achou que não valia a pena dizer-lhe isso.
“Mais alguma coisa que o senhor tenha compreendido?”
Bonaventura fechou os olhos, em parte por causa da dor, em parte pelo esforço para recordar. “Ela disse assassino, mas acho que era a mim que estava se referindo. E ameaçou me matar, mas só me bateu. Nada tinha sentido. Ela não dizia coisa com coisa, não eram palavras, só barulho, como de um animal. Acho que foi aí que os atendentes chegaram.”
Voltando-se e apontando com o queixo para a porta do necrotério, Brunetti perguntou: “O corpo está lá?”.
“Está, eu já disse. A família vem buscá-lo às duas.”
Brunetti se aproximou da porta e a abriu. Lá dentro, a poucos metros, o corpo de Ruffolo jazia, nu e exposto, numa maca de metal. O lençol que o cobria estava todo amassado no chão, como se o tivessem arrancado com violência.
Ele avançou alguns passos e ficou olhando para o morto. Estava com a cabeça virada, de modo que se via a linha irregular ao longo do cabelo, mostrando onde o tampo do crânio tinha sido serrado para que Bonaventura examinasse os danos no cérebro. A frente do tronco exibia a longa incisão, a mesma linha horrível traçada no corpo jovem e robusto do americano. Com exatidão e verdade, como que traçado por um compasso, o círculo da morte se fechou, levando Brunetti de volta ao lugar onde havia começado.
Afastando-se do que restava de Ruffolo, ele retornou ao escritório. Outro homem de uniforme branco estava debruçado sobre Bonaventura, apalpando delicadamente as bordas da ferida. Brunetti fez um sinal para Vianello e Miotti, mas antes que os dois tivessem tempo de se aproximar, Bonaventura olhou para ele e disse: “Eu me lembrei de uma coisa estranha”.
“O quê, dottore?”
“Ela pensou que eu fosse de Milão.”
“Não entendi. Como assim?”
“Quando disse que ia me matar, ela me chamou de ‘milanese traditore’, mas, a única coisa que fez foi me bater. Não parava de gritar que ia me matar e de me chamar ‘milanese traditore’. Isso não faz o menor sentido para mim.”
De súbito, fez sentido para Brunetti. “Vianello, vocês vieram de barco?”
“Sim, senhor, está lá fora.”
“Miotti, ligue para a questura e diga para mandarem imediatamente a Squadra Mobile ao palazzo de Viscardi. Vamos, Vianello.”
A lancha da polícia estava atracada à esquerda do hospital, o motor em ponto morto. Os dois embarcaram de um salto. “Bonsuan”, disse Brunetti, contente por encontrá-lo ao volante, “lá perto de San Stae, aquele palazzo novo, vizinho do Palazzo Duodo.”
O piloto não precisou fazer nenhuma pergunta: o medo de Brunetti era contagioso. Ligando a sirene, empurrou a alavanca do acelerador e saiu velozmente pelo canal. Chegando ao fim, entrou no rio San Giovanni Crisostomo, a sirene a berrar, e tomou o rumo do Canale Grande. Minutos depois, a embarcação entrou em suas águas, quase colidindo com um táxi e levantando uma onda violenta de cada lado, que arremetia contra os barcos e os prédios. Passaram em alta velocidade por um vaporetto que estava atracando em San Stae; a onda o jogou contra o imbarcadero, fazendo com que mais de um turista se pusesse a dançar, desequilibrado.
Pouco adiante do Palazzo Duodo, Bonsuan aproximou a lancha da riva, e os dois policiais desembarcaram, deixando que ele se encarregasse de atracar. Brunetti se pôs a correr na calle estreita, parou um instante para se orientar, já que tinha chegado inesperadamente por água, e então virou à esquerda, rumo ao palazzo.
Ao ver aberta a pesada porta que dava para o pátio interno, compreendeu que tinha chegado tarde: tarde demais para Viscardi e tarde demais para a signora Concetta. Encontrou-a lá, no pé da escada, os braços torcidos às costas, imobilizados por dois convidados de Viscardi, um deles, Brunetti notou, ainda com o guardanapo enfiado no colarinho.
Eram dois homens fortes, e tanta brutalidade lhe pareceu desnecessária para prender a signora Concetta. Por um lado, era tarde demais, por outro, ela não oferecia resistência, estava satisfeita, quase contente, com os olhos fitos no que jazia aos seus pés. Viscardi tinha caído de bruços, de modo que não se podiam ver os orifícios que a espingarda havia aberto em seu peito, posto que nada impedia que o sangue escorresse no piso de granito. Junto ao corpo, porém mais perto da signora Concetta, a arma continuava no lugar onde ela a havia jogado. A lupara do finado cumprira a missão, tinha vingado a honra da família.
Brunetti se aproximou. Ela o fitou, reconheceu-o, mas não sorriu: suas feições pareciam de aço. Ele se dirigiu aos dois homens: “Soltem-na”. Vendo que nenhum dos dois obedecia, repetiu com voz ainda neutra. “Soltem-na.” Dessa vez, ambos reagiram e lhe soltaram os braços, mas não sem tomar o cuidado de recuar a uma distância segura.
“Signora Concetta”, disse Brunetti. “Como a senhora soube?” Era tolice perguntar-lhe por que fizera o que fizera.
Com dificuldade, como se lhe doesse mover os braços, ela os ergueu e os cruzou no peito. “O meu Peppino me contou tudo.”
“Que foi que ele contou, signora?”
“Que, dessa vez, ia ganhar dinheiro suficiente e a gente ia poder voltar para a nossa terra. Voltar. Faz tanto tempo que eu não vou para lá.”
“Que mais ele contou? Mencionou os quadros?”
O homem com o guardanapo na camisa o interrompeu, falando com voz esganiçada e insistente. “Não sei quem o senhor é, mas aviso que eu sou o advogado signor Viscardi. E saiba que o senhor está dando informações a essa mulher. Eu sou testemunha do crime, ninguém pode conversar com ela enquanto a polícia não chegar.”
Brunetti olhou rapidamente para ele, depois para Viscardi no chão. “Ele não precisa mais de advogado.” Voltou-se novamente para a velha. “Que foi que Peppino lhe contou, signora?”
Ela se esforçou para dizê-lo com clareza, procurando evitar o dialeto. Afinal, estava falando com a polícia. “Eu sabia de tudo. Sabia que o meu Peppino tinha um encontro com o senhor. Ele estava com muito medo, o meu Peppino. Com medo desse homem”, apontou para Viscardi. “Ele descobriu uma coisa e ficou com muito medo.” Tornou a encarar Brunetti. “Agora eu posso sair daqui, dottore? Já fiz o que tinha de fazer.”
O homem do guardanapo voltou a tomar a palavra: “O senhor está fazendo perguntas dirigidas a essa mulher, e eu sou testemunha do fato”.
Brunetti estendeu a mão e tomou o braço da signora Concetta. “Venha comigo.” Fez sinal para Vianello, que se colocou rapidamente ao lado dela. “Acompanhe este policial. Ele vai levá-la à questura de barco.”
“De barco, não. Eu tenho medo da água.”
“A lancha é muito segura, signora”, tranqüilizou-a Vianello.
Concetta olhou para Brunetti. “O senhor vem com a gente, dottore?”
“Não, signora, eu tenho de ficar aqui.”
Apontando para Vianello, ela perguntou: “Eu posso confiar nele?”.
“Sim, signora, pode confiar.”
“Jura?”
“Sim, signora, juro.”
“Va bene, eu vou de barco.”
Afastou-se alguns passos, conduzida pelo policial, que teve de se curvar para lhe segurar o braço. Mas logo se deteve e olhou para Brunetti. “Dottore.”
“Pois não, signora Concetta?”
“Os quadros estão na minha casa.” Virou-se e foi para a porta, sempre escoltada por Vianello.
Posteriormente, Brunetti descobriria que, nos vinte anos que passou em Veneza, ela nunca se atrevera a entrar num barco: tal como muitos montanheses da Sicília, tinha um pavor mortal de água e não conseguiu superá-lo em duas décadas. Antes disso, porém, ficou sabendo o que ela havia feito com as obras de arte. Aquela mesma tarde, quando a polícia foi ao apartamento dela, encontrou os três quadros, o Monet, o Gauguin e o Guardi, totalmente repicados com a mesma tesoura com que a signora Concetta atacara Brunetti anos antes. Dessa vez, Peppino não estava lá para detê-la, e ela os destruíra irremediavelmente, deixando apenas retalhos de tela e tinta na esteira de sua dor. Brunetti não se surpreendeu ao saber que muita gente considerou esta a prova cabal de sua insanidade: qualquer um podia matar um homem; só uma louca destruía um Guardi.
Duas noites depois, o telefone tocou na hora do jantar e Paola foi atender. Pela ternura na voz e o riso freqüente com que ouvia o que lhe diziam, Brunetti compreendeu que estava falando com os pais. Quase meia hora depois, ela saiu ao terraço e disse: “Guido, o papai quer falar com você”.
Ele foi para a sala e pegou o fone. “Boa noite.”
“Boa noite, Guido. Eu tenho novidades para você.”
“Sobre o aterro?”
“Aterro?”, repetiu o conde, mostrando-se confuso.
“O lixão do lago Barcis.”
“Ah, você está se referindo ao canteiro de obras? Uma empresa de coleta de lixo esteve lá esta semana. O terreno está limpo: removeram tudo e o cobriram de terra.”
“Canteiro de obras?”
“É, o exército decidiu fazer testes de emissão de radônio no local. Vão fechar tudo e construir as instalações de teste. Sem nome, naturalmente.”
“Que exército, o deles ou o nosso?”
“O nosso, é claro.”
“Para onde levaram o material?”
“Eu acredito que os caminhões foram para Gênova. Mas o amigo que me contou não tinha certeza.”
“Você sabia que Viscardi estava envolvido nisso, não?”
“Guido, eu não estou gostando desse tom acusador”, disparou o conde. O genro não pediu desculpas, e ele continuou. “Eu sabia muita coisa sobre o signor Viscardi, mas ele estava além do meu alcance.”
“Agora ele está além do alcance de todo mundo”, disse Brunetti, mas não sentiu nenhum prazer em ser capaz de dizê-lo.
“Eu tentei avisá-lo.”
“Eu não sabia que ele era tão poderoso.”
“Era. E o tio dele”, o conde citou o nome de um ministro, “continua sendo poderosíssimo. Você entende?”
Brunetti entendeu mais do que lhe apetecia. “Eu queria pedir outro favor.”
“Eu já fiz muito por você esta semana, Guido. Inclusive contrariando os meus próprios interesses.”
“Não é para mim.”
“Guido, os favores são sempre para quem pede. Principalmente quando a gente os pede para os outros.”
Brunetti ficou tanto tempo calado, que o conde finalmente perguntou: “O que é?”.
“É um oficial dos carabinieri, Ambrogiani. Acaba de ser transferido para a Sicília. Você pode providenciar para que não lhe aconteça nada enquanto estiver lá?”
“Ambrogiani?”, repetiu o conde, como se só estivesse interessado em saber o nome.
“É.”
“Vou ver o que dá para fazer, Guido.”
“Eu fico muito agradecido.”
“Imagino que o maggiore Ambrogiani também vai ficar.”
“Obrigado.”
“De nada, Guido. Na semana que vem, nós estamos de volta.”
“Ótimo. Divirtam-se.”
“Sim, obrigado. Boa noite, Guido.”
“Boa noite.”
Bastou-lhe desligar o telefone para que um detalhe da conversa lampejasse em sua mente, deixando-o subitamente paralisado, com os olhos fixos na mão ainda pousada no aparelho. O conde sabia a patente de Ambrogiani. Brunetti se limitara a dizer que se tratava de um oficial, mas seu sogro o chamara de “maggiore Ambrogiani”. Portanto sabia de Gamberetto. Tinha negócios com Viscardi. E agora mencionava a patente de Ambrogiani. Que mais aquele homem sabia? E em que coisas estava envolvido?
Paola o substituíra no terraço. Ele abriu a porta e, aproximando-se, passou-lhe o braço no ombro. A oeste, o céu ainda irradiava uma pálida luz; em breve escureceria.
“Os dias estão ficando mais curtos, não?”, ela perguntou.
E os dois ficaram assim, lado a lado. Os sinos começaram a tocar, primeiro os mais fracos de San Polo, depois, atravessando a cidade, os canais e os séculos, chegou o pujante trovejar de San Marco.
“Guido, eu acho que Raffi está apaixonado”, disse Paola, convencida de que tinha escolhido o momento certo.
Ao lado da mãe do seu único filho homem, Brunetti se pôs a pensar nos pais, no quanto eles amavam os filhos. Ficou tanto tempo calado que ela se virou e olhou para ele. “Guido, por que você está chorando?”
Donna Leon
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















