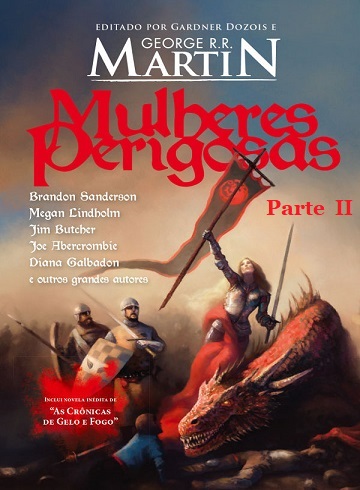Biblio VT




A ficção sempre se dividiu quando se trata do quanto as mulheres são perigosas. No mundo real, claro, a questão foi resolvida há muito tempo. Mesmo que as amazonas sejam mitológicas (e quase não teriam cortado os seios direitos para tornar mais fácil esticar a corda de um arco caso não fossem), a lenda foi inspirada pela lembrança das ferozes mulheres guerreiras citas, que definitivamente não eram mitológicas. Gladiadoras, lutavam contra outras mulheres – e algumas vezes homens – até a morte nas arenas da antiga Roma. Houve mulheres piratas como Anne Bonny e Mary Read, e até mulheres samurai. Mulheres serviram nas tropas de combate na linha de frente – e foram temidas por sua ferocidade – no exército russo durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje servem em Israel. Até 2013 as mulheres das forças armadas dos Estados Unidos se limitavam a funções de “não combatentes”, mas de qualquer forma muitas corajosas deram suas vidas no Iraque e no Afeganistão, já que balas e minas terrestres nunca se importaram se você é um combatente ou não. As mulheres que serviram como pilotos no Serviço Feminino da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial também se limitavam a funções de não combatentes (embora muitas delas ainda assim tenham morrido desempenhando seus papéis), mas as russas subiram aos céus como pilotos de caça, e algumas vezes se tornaram ases. Uma atiradora de elite russa durante a Segunda Guerra Mundial recebeu o crédito por mais de cinquenta abates. A rainha Boudicca, da tribo dos icenos, liderou uma das mais assustadoras revoltas contra a autoridade romana, que quase teve sucesso em expulsar os invasores romanos da Grã-Bretanha, e uma jovem camponesa francesa inspirou e liderou as tropas contra o inimigo com tanto sucesso que depois ficou para sempre famosa como Joana d’Arc. Do lado do mal, houve salteadoras como Mary Frith, lady Caroline Ferrers e Pearl Hart (a última pessoa a assaltar uma carruagem); envenenadoras notórias como Agrippina e Catarina Médici, criminosas modernas como Ma Barker e Bonnie Parker, até mesmo assassinas em série como Aileen Wuornos. Elizabeth Báthory teria se banhado no sangue de virgens e, embora isso possa ser questionável, não há dúvida de que ela torturou e matou dezenas, talvez centenas de crianças ao longo da vida. A rainha Mary I, da Inglaterra, mandou queimar centenas de protestantes na fogueira. A rainha Elizabeth, da Inglaterra, respondeu depois executando um grande número de católicos. A rainha louca Ranavalona, de Madagascar, mandou executar tantas pessoas que eliminou um terço da população de Madagascar durante seu reinado; ela condenaria uma pessoa à morte até se esta aparecesse em seus sonhos. A ficção popular, contudo, sempre teve uma visão esquizofrênica do perigo das mulheres. Na ficção científica dos anos 1930, 1940 e 1950, as mulheres, quando apareciam, eram em grande medida relegadas ao papel da bela filha do cientista, que poderia gritar nas cenas de luta, mas afora isso tinha pouco a fazer que não se pendurar, amorosa, nos braços do herói no final. Legiões de mulheres desfaleceram, desamparadas, enquanto esperavam ser resgatadas de tudo pelo herói intrépido de maxilar forte, desde dragões até monstros com olhos de inseto, que sempre as raptavam com o improvável propósito alimentar ou romântico nas capas das revistas de ficção científica. Mulheres que lutavam inutilmente eram amarradas a trilhos de trem, sem nada a fazer a não ser guinchar em protesto e esperar que o mocinho chegasse a tempo de salvá-las. Ainda assim, ao mesmo tempo, mulheres guerreiras como Dejah Thoris e Thuvia, a Dama de Marte, de Edgar Rice Burroughs, eram tão boas com a lâmina e igualmente mortais em batalha quanto John Carter e seus outros camaradas do sexo masculino; aventureiras como Jirel of Joiry, de C.L. Moore, abriram caminho à força pelas páginas da revista Weird Tales (e deixaram uma trilha para aventureiras posteriores como a Alyx, de Joanna Russ); James H. Schmitz enviou Agentes de Vega como Granny Wanattel e adolescentes destemidas como Telzey Amberdon e Trigger Argee para combater ameaças sinistras e monstros nos caminhos do espaço; e as mulheres perigosas de Robert A. Heinlein eram capazes de ser capitãs de espaçonaves ou matar inimigos em combate corpo a corpo. A astuta e misteriosa Irene Adler, de Arthur Conan Doyle, foi uma das poucas pessoas a superar seu Sherlock Holmes, e provavelmente uma das inspirações para as legiões de femmes fatales ardilosas, perigosas, sedutoras e traiçoeiras que apareceram nas obras de Dashiell Hammett e James M. Cain, depois surgiriam em dezenas de filmes noir, e ainda aparecem nos filmes e na TV até hoje. Heroínas posteriores da TV como Buffy, a Caça-Vampiros, e Xena, a Princesa Guerreira, estabeleceram as mulheres como formidáveis e fatais o suficiente para combater hordas de assustadoras ameaças sobrenaturais e ajudaram a inspirar todo o subgênero do romance paranormal, que às vezes é informalmente conhecido como o gênero das “heroínas duronas”. Assim como nossa coletânea Warriors, Dangerous Women foi concebido como um livro de estilo híbrido, que mistura todo tipo de ficção. Para isso, pedimos a escritores de todos os gêneros – ficção científica, fantasia, mistério, romance histórico, terror, romance paranormal, tanto homens quanto mulheres – para abordar o tema das mulheres perigosas, e a convocação foi atendida por alguns dos melhores autores da área, incluindo escritores novos e gigantes em seus campos como Diana Gabaldon, Jim Butcher, Sharon Kay Penman, Joe Abercrombie, Carrie Vaughn, Joe R. Lansdale, Lawrence Block, Cecelia Holland, Brandon Sanderson, Sherilynn Kenyon, S.M. Stirling, Nancy Kress e George R.R. Martin. Aqui você não encontrará vítimas desamparadas que choramingam de medo enquanto o mocinho combate o monstro ou luta contra o vilão, e, se quiser amarrar essas mulheres a trilhos de trem, terá pela frente uma boa luta. Em vez disso, você encontrará guerreiras brandindo espadas; intrépidas pilotos de caça e espaçonautas de longo curso; assassinas em série letais; super-heroínas formidáveis; mulheres fatais maliciosas e sedutoras; senhoras da magia; meninas más criadas na dureza; bandoleiras e rebeldes; sobreviventes endurecidas em futuros pós-apocalípticos; investigadoras particulares; duras juízas de pena capital; rainhas orgulhosas que comandam nações e cujos ciúme e ambições mandam milhares para mortes horrendas; cavaleiras de dragões ousadas e muito mais. Aproveite! Gardner Dozois
.
.
.
.
.
.
JOE ABERCROMBIE
Como demonstra a história acelerada e movimentada que se segue, às vezes perseguir um fugitivo pode ser tão perigoso para o perseguidor quanto para o perseguido – particularmente quando a caça não tem mais para onde correr... Joe Abercrombie é uma das estrelas que sobem mais rápido no gênero da fantasia atualmente, aclamado por leitores e críticos por sua abordagem dura, contida e objetiva. Talvez, ele seja mais conhecido por sua trilogia “A primeira lei”, cujo primeiro romance, O poder da espada, foi lançado em 2006; a ele se seguiram, em anos posteriores, Antes da forca e O duelo dos reis. Ele também escreveu os romances de fantasia Best Served Cold e The Heroes. Seu romance mais recente é Red Country. Além de escrever, Abercrombie também é editor de cinema freelance, e mora e trabalha em Londres.
.
FORA DA LEI
Shy esporeou o cavalo, cujas pernas da frente fraquejaram, e antes que percebesse o que estava acontecendo, ela e a sela deram adeus uma à outra. Ela teve um instante agitado em pleno ar para avaliar a situação. Não o suficiente para uma rápida avaliação, e a terra iminente não lhe deu tempo para mais. Ela se esforçou para rolar na queda – como tentava fazer na maioria de suas muitas situações infelizes –, mas o solo logo a desenrolou, lhe deu uma bela surra e a jogou às cambalhotas sobre um trecho de vegetação ressecada pelo sol. A poeira assentou. Ela reservou um momento apenas para respirar um pouco. Depois outro para gemer enquanto o mundo parava de girar. E mais um para se apoiar cuidadosamente sobre um braço e uma perna, esperando por aquela pontada de dor nauseante que significava que algo estava quebrado e sua infeliz sombra de vida logo se perderia no crepúsculo. Ela daria as boas-vindas a isso se assim pudesse se esticar e não ter mais de correr. Mas a dor não veio. Pelo menos não fora do padrão habitual. No que dizia respeito à sua infeliz sombra de vida, ela ainda esperava o julgamento. Shy se levantou com esforço e se espanou, coberta de poeira e cuspindo terra. Ela engolira muitos bocados de areia nos meses anteriores, mas tinha uma desalentadora premonição de que haveria mais. Seu cavalo estava a alguns passos de distância, flanco arfando, patas dianteiras pretas de sangue. A flecha de Neary cravara-se no ombro, não fundo o bastante para matá-lo ou mesmo desacelerá-lo imediatamente, mas fundo o bastante para fazê-lo sangrar num bom ritmo. Com sua cavalgada dura, isso o mataria tão certamente quanto uma lança no coração. Houve uma época em que Shy tivera uma ligação com cavalos. Uma época – apesar de ser dura com as pessoas e estar certa na maioria das vezes – em que ela era atipicamente mole com animais. Mas essa época passara. Não havia nada muito suave nela naqueles dias, corpo ou mente. Então deixou sua montaria dar seus últimos suspiros de espuma vermelha sem o consolo de sua mão para acalmá-la e correu rumo à cidade, cambaleando no início, mas rapidamente se aquecendo com o exercício. Ela tinha muita experiência em correr. “Cidade” talvez fosse um exagero. Seis prédios, e chamá-los de prédios era ser generoso com dois ou três. Todos de madeira grosseira e ignorando os ângulos retos, desgastados pelo sol, descascados pela chuva e açoitados pelo vento, agrupavam-se ao redor de uma praça suja e um poço em ruínas. O maior prédio tinha aparência de taverna, bordel, posto comercial ou provavelmente de todos os três. Uma placa frágil ainda se aferrava às tábuas acima da entrada, mas o nome havia sido esfregado pelo vento até não passar de alguns traços claros sobre os veios. “Nada, lugar algum” era tudo o que ela proclamava então. Subindo os degraus de dois em dois, pés descalços fazendo gemer as tábuas velhas, pensamentos fervilhando sobre como iria agir quando chegasse do lado de dentro, quais verdades iria temperar com quais mentiras para ter a receita mais provável. “Há homens me perseguindo!” Prendendo a respiração junto ao umbral e fazendo de tudo para parecer mais que desesperada – não um grande esforço de atuação naquele momento, nem, na verdade, nos doze meses anteriores. “Três desgraçados!” Depois – desde que ninguém a reconhecesse de todos os seus mandados de prisão –: “Eles tentaram me roubar!” Um fato. Não era necessário acrescentar que ela mesma roubara o dinheiro do novo banco em Hommenaw na companhia daqueles três indivíduos e um outro que fora então apanhado e enforcado pelas autoridades. “Eles mataram meu irmão! Estão embriagados de sangue!” Seu irmão estava seguro em casa, onde ela desejava estar e, se seus perseguidores estavam bêbados seria de destilados baratos como de hábito, mas ela iria guinchar isso com aquele pequeno trinado na garganta. Shy conseguia produzir um belo trinado quando precisava de um, praticara até que se tornasse algo impressionante. Ela imaginou os clientes se jogando aos seus pés na ansiedade de ajudar uma mulher em apuros. “Eles atiraram no meu cavalo!” Ela tinha de admitir que não parecia provável que qualquer um durão o bastante para viver ali se visse tomado por um surto de cavalheirismo, mas talvez o destino lhe desse uma boa mão para variar. Isso acontecia. Ela passou sem jeito pela porta da taverna, abrindo a boca para apresentar a história, e ficou paralisada. O lugar estava vazio. Não havia ninguém ali. Aliás, havia o nada. Nenhuma mínima peça de mobília no salão. Uma escada estreita e um balcão ao longo da parede esquerda, portas escancaradas para o vazio no segundo andar. Fachos de luz espalhados por onde o sol nascente passava pelas muitas frestras da carpintaria lascada. Talvez apenas um lagarto disparando para as sombras – algo que nunca faltava – e uma belíssima camada de poeira, acizentando todas as superfícies, soprada para todos os cantos. Shy ficou um momento de pé ali sem piscar, depois saiu apressada e seguiu pela calçada frágil até o prédio seguinte. Quando empurrou a porta, esta despencou das dobradiças enferrujadas. Aquele não tinha nem sequer teto ou um piso. Apenas vigas nuas com o despreocupado céu rosado acima, e traves nuas com uma camada de terra abaixo, tão desolada quanto os quilômetros de terreno do lado de fora. Ela agora enxergava, enquanto voltava para a rua, sem a visão bloqueada pela esperança. Nada de vidro nas janelas, nem papel encerado. Nada de corda no poço, que desmoronava. Nenhum animal à vista – quer dizer, exceto por seu próprio cavalo morto, o que só servia para confirmar a ideia. Era o cadáver ressecado de uma cidade, morta havia muito. Shy ficou naquele lugar abandonado, apoiada nas pontas dos pés descalços como se prestes a sair em disparada para algum lugar, mas sem ter destino, um braço envolvendo o corpo enquanto os dedos da outra mão se agitavam e retorciam sobre nada, mordendo o lábio e sugando o ar rapidamente e o soprando pelo pequeno espaço entre os dentes da frente.
Mesmo pelos padrões recentes, era um momento ruim. Mas se ela havia aprendido algo nos meses anteriores era que as coisas sempre podem piorar. Olhando para o caminho por onde chegara, Shy viu poeira se elevando. Três pequenas trilhas no tremeluzir que se elevava da terra cinza. – Ah, inferno – sussurrou ela, e mordeu o lábio com mais força. Tirou a faca de mesa do cinto e limpou o pequeno caco de metal em sua blusa suja, como se limpá-la pudesse de algum modo melhorar as chances. Ela ouvira dizer que tinha imaginação fértil, mas mesmo assim era difícil imaginar uma arma mais pobre. Teria rido se não estivesse à beira das lágrimas. Ela passara tempo demais à beira das lágrimas nos meses anteriores, agora que pensava nisso. Como tudo chegara àquele ponto? Uma pergunta para alguma garota abandonada à própria sorte, não para uma fora da lei com uma oferta de quatro mil marcos de recompensa, mas ainda assim uma pergunta que nunca deixava de fazer. Bandida desesperada! Ela se tornara uma especialista no desespero, mas o resto continuava a ser um mistério. A triste verdade era que ela sabia muito bem como chegara àquele ponto – da mesma forma de sempre. Um desastre se seguindo tão violentamente ao outro, e ela só quicava entre eles, batendo como uma mariposa numa lanterna. A segunda pergunta habitual se seguiu. E agora, porra? Seu estômago se revirou – não que houvesse muito para revirar – e ela puxou a bolsa pelos cordões, as moedas dentro retinindo com aquele som especial que apenas o dinheiro produz. Dois mil marcos em prata, mais ou menos. Você acharia que um banco teria muito mais – eles diziam aos depositantes ter sempre 50 mil à disposição –, mas no final das contas não se pode confiar mais nos bancos que nos bandidos. Enfiou a mão, tirou um punhado de moedas e jogou o dinheiro na rua, deixando-o para brilhar na poeira. Fez isso do modo como fazia a maioria das coisas então – quase sem saber por quê. Talvez valorizasse a vida muito mais do que os dois mil marcos, mesmo que ninguém mais o fizesse. Talvez tivesse esperança de que eles fossem pegar a prata e deixá-la para trás, embora ela não havia pensado no que iria fazer quando fosse deixada naquela cidade cadáver – sem cavalo, sem comida, sem arma. Claramente não tinha traçado um plano completo, ou não um que passasse num teste, pelo menos. Planejamento falho sempre fora o seu problema. Ela salpicou prata como se estivesse jogando sementes na fazenda da mãe, há quilômetros, anos e uma dúzia de mortes violentas de distância. Quem diria que sentiria falta do lugar? Falta da casa miserável, do celeiro dilapidado e das cercas que sempre precisavam de remendos. A vaca teimosa que nunca dava leite, o poço teimoso que nunca dava água e o solo teimoso no qual apenas ervas daninhas cresciam. Sua irmãzinha teimosa e também seu irmão. Mesmo o grande Lamb, idiota, marcado por cicatrizes. O que Shy não teria dado naquele momento para ouvir a voz aguda da mãe a xingando mais uma vez. Ela respirou fundo, o nariz doendo, os olhos ardendo, e os limpou nas costas do punho puído. Não havia tempo para reminiscências chorosas. Ela podia ver três pontos escuros dos cavaleiros abaixo das inevitáveis trilhas de poeira. Lançou longe a bolsa vazia, correu de volta para a taverna e... – Ai! Ela passou pelo umbral saltando, a sola descalça do pé ferida por uma cabeça de prego solta. O mundo não passava de um valentão malvado, isso sim. Mesmo quando você tinha um enorme infortúnio prestes a despencar em sua cabeça, os pequenos ainda aproveitavam todas as oportunidades de beliscar seus dedos. Como ela desejava ter tido a oportunidade de pegar suas botas. Só para manter alguma dignidade. Mas ela tinha o que tinha, e nem botas nem dignidade estavam na lista, e cem enormes desejos não valem um pequeno fato – como Lamb costumava repetir para ela sempre que o amaldiçoava, e à sua mãe, e à vida que tinha. Então jurava que iria embora na manhã seguinte. Ela se lembrou de como tinha sido na época, e desejou ter então a chance de socar a cara de seu antigo eu. Mas poderia dar um soco na própria cara quando escapasse daquilo. Primeiro tinha de suportar uma sequência de outros punhos com a mesma disposição. Subiu as escadas rapidamente, mancando um pouco e xingando muito. Quando chegou ao alto viu que deixara marcas ensanguentadas de dedão em degraus alternados. Ela estava começando a ficar bastante deprimida com aquela trilha reluzente levando diretamente ao final de sua perna quando uma ideia surgiu em meio ao pânico. Ela caminhou pelo balcão, se preocupando em apertar firmemente o pé ensanguentado nas tábuas, e entrou num quarto abandonado no final. Depois ergueu o pé, apertando-o firmemente com uma das mãos para deter o sangramento, e voltou pulando pelo caminho que tomara, entrando na primeira passagem, perto do alto da escada, se enfiando nas sombras do lado de dentro. Um esforço lamentável, sem dúvida. Tão lamentável quanto seus pés descalços, sua faca de mesa, sua carga de dois mil marcos e seu grande sonho de voltar para casa, o buraco de merda que ela sempre sonhara em deixar para trás. Poucas as chances de que aqueles três desgraçados caíssem naquela, por mais idiotas que fossem. Mas o que mais ela podia fazer? Quando você está reduzido a pequenas apostas, tem de apostar no azarão. Sua própria respiração era sua única companhia, ecoando no vazio, forte ao sair, irregular ao entrar, descendo quase dolorosamente pela garganta. A respiração de alguém sem ideias, com medo quase a ponto de se borrar involuntariamente. Ela não conseguia ver uma saída. Se um dia voltasse para aquela fazenda, saltaria da cama toda manhã que acordasse viva e faria uma pequena dança, daria um beijo na mãe por cada xingamento, nunca seria grossa com a irmã ou zombaria novamente de Lamb por ele ser um covarde. Ela fez a promessa, e depois desejou ser do tipo que cumpria suas promessas. Ouviu cavalos do lado de fora, se esgueirou até a única janela com vista para a rua e espiou para baixo com tanta cautela quanto se estivesse olhando dentro de um balde de escorpiões. Eles estavam ali. Neary usava aquele velho cobertor sujo amarrado na cintura com corda, seus cabelos oleosos se projetando em todos os ângulos, rédeas numa das mãos, na outra o arco com o qual ferira o cavalo de Shy, a lâmina do machado pesado pendendo do cinto, tão cuidadosamente limpa quanto o resto de sua pessoa repugnante era desmazelado. Dodd estava com seu chapéu gasto enfiado na cabeça, sentado na sela com aquela postura encolhida de ombros caídos que sempre adotava perto do irmão, como um cachorrinho esperando um tapa. Shy teria gostado de dar um tapa naquele idiota sem fé naquele instante. Um tapa para começar. E havia Jeg, sentado como um lorde com aquele seu comprido casaco vermelho, as abas sujas de terra caídas sobre as ancas de seu grande cavalo, uma expressão de desprezo sequioso no rosto enquanto examinava os prédios; aquele chapéu alto que ele achava que o tornava um personagem se projetando de sua cabeça, levemente inclinado, como a chaminé de uma casa de fazenda queimada. Dodd apontou para as moedas espalhadas sobre a terra ao redor do poço, duas delas reluzindo ao sol. – Ela deixou o dinheiro. – Parece que sim – disse Jeg, a voz tão dura quanto a do irmão era suave. Ela os observou desmontar e prender as montarias. Sem pressa. Como se estivessem se espanando depois de uma pequena cavalgada e ansiando por uma bela noite com companhias cultas. Eles não precisavam se apressar. Sabiam que ela estava ali, sabiam que não iria a lugar algum e sabiam que não conseguiria ajuda, assim como ela sabia. – Desgraçados – sussurrou Shy, amaldiçoando o dia em que se juntou a eles. Mas você precisa se juntar a alguém, não é mesmo? E você só pode escolher entre o que está ao seu alcance. Jeg esticou as costas, fungou longamente, deu uma cusparada confortável, depois desembainhou a espada. Aquela espada curva de cavalaria com punho tramado de que ele tanto se orgulhava, que dissera ter conquistado num duelo com um oficial da União, mas que Shy sabia que era roubada, juntamente com a maior parte de todo o resto que ele já tivera. Como debochara dele por causa daquela espada idiota. Mas não se importaria de tê-la nas mãos naquele momento, ficando ele apenas com sua faca de mesa. – Fumaça! – gritou Jeg, e Shy se encolheu. Ela não tinha ideia de quem inventara aquele nome para ela. Algum palhaço tinha escrito isso nos avisos de prisão contra ela, e então todo mundo o usava. Por conta de sua tendência a desaparecer como fumaça, talvez. Embora também pudesse ter sido por conta de sua tendência a feder tanto quanto, grudar nas gargantas das pessoas e se mover com o vento. – Sai daí, Fumaça! – gritou ele de novo, a voz ecoando pelas fachadas mortas dos prédios, e Shy se encolheu um pouco mais na escuridão. – Venha para cá e não vamos te machucar demais quando a encontrarmos! Não bastava pegar o dinheiro e partir. Eles também queriam o prêmio por sua cabeça. Ela apertou a língua no espaço entre os dentes e fez com a boca: “Cretinos.” Há um tipo de homem que quanto mais você dá, mais ele quer. – Teremos de ir lá pegá-la – ela ouviu Neary dizer no ar parado. – É.
– Eu lhe disse que teríamos de ir pegá-la. – Então você deve estar mijando nas calças de alegria pelo resultado, né? – Eu disse que teríamos de pegá-la. – Então pare de falar isso e faça. – Olhem, o dinheiro está aqui, poderíamos pegar isto e ir embora, não há necessidade de... – falou Dodd em tom de bajulação, – Você e eu saímos mesmo do meio das mesmas pernas? – perguntou Jeg ao irmão com desprezo. – Você é o desgraçado mais idiota que eu conheço. – O mais idiota – repetiu Neary. – Você acha que vamos deixar quatro mil marcos para os corvos? – perguntou Jeg. – Cata aquilo, Dodd. Nós vamos domar a égua. – Onde acha que ela está? – quis saber Neary. – Achei que você era o grande rastreador. – Em campo aberto, mas nós não estamos em campo aberto. Jeg ergueu uma sobrancelha, olhando para os barracos vazios. – Você chamaria isto de símbolo máximo da civilização? Eles se encararam por um momento, poeira sendo soprada ao redor de suas pernas e depois assentando novamente. – Ela está em algum lugar por aqui – concluiu Neary. – Acha mesmo? Que bom que eu tenho comigo o autodefinido olho mais afiado a oeste das montanhas, para que eu não perca o cavalo morto dela a uma porra de dezena de passos de distância. Sim, ela está em algum lugar por aqui. – Onde você acha que seria? – Onde você estaria? Neary examinou os prédios, e Shy saiu do caminho quando os olhos apertados dele passaram sobre a taverna. – Naquele, acho, mas não sou ela. – Claro que você não é ela, porra. Sabe como posso dizer isso? Você tem peitos maiores e menos sensatez. Se fosse ela eu não teria de procurar, não é, cacete? Outro silêncio, outra rajada de vento com poeira. – Acho que não – disse Neary. Jeg tirou o chapéu alto, esfregou os cabelos suados com as pontas dos dedos e o enfiou novamente, inclinado, na cabeça. – Você procura lá enquanto eu tento o do lado, mas não mate a vagabunda, tá? Isso só dá metade da recompensa. Shy recuou para as sombras, sentindo o suor escorrer sob a blusa. Ser apanhada naquele buraco imprestável. Por aqueles cretinos imprestáveis. Descalça. Ela não merecia aquilo. Tudo o que ela queria era ser alguém de quem valesse a pena falar. Em vez de ser nada, esquecida no dia de sua morte. Naquele momento, ela viu que há um fino equilíbrio entre muito pouca excitação e uma enorme porção de ajuda excessiva. Mas como a maioria de suas epifanias mancas, aquela lhe ocorrera um ano tarde demais. Ela sugou ar pelo pequeno espaço entre os dentes ao ouvir Neary fazendo ranger as tábuas no salão, talvez o tilintar metálico do grande machado. Ela tremia toda. De repente se sentiu tão fraca que mal conseguia erguer a faca, quanto mais dar um golpe com ela. Talvez fosse a hora de desistir. Jogar a faca pela porta e dizer: “Estou saindo! Não vou criar confusão! Vocês venceram!” Sorrir, anuir e agradecer a eles por sua traição e sua grande consideração quando lhe dessem uma surra, a chicoteassem, quebrassem suas pernas e o que mais os divertisse a caminho do enforcamento. Ela vira sua cota disso, e nunca gostara do espetáculo. Alguém amarrado ali enquanto liam seu nome e seu crime, esperando alguma suspensão que não viria enquanto o laço era apertado, pedindo misericórdia aos soluços ou lançando maldições e nada disso fazendo a menor diferença. Chutando o ar, a língua para fora enquanto você se borrava para diversão de uma ralé que não era melhor que você. Ela imaginou Jeg e Neary na frente da multidão sorridente, enquanto a observavam fazer a dança dos ladrões na ponta da corda. Provavelmente vestindo roupas ainda mais ridículas compradas com o dinheiro da recompensa. “Fodam-se eles”, fez com a boca na escuridão, os lábios se curvando num sorriso selvagem ao ouvir os pés de Neary no primeiro degrau. Ela sempre fora muito do contra. Desde bem pequena, quando alguém lhe dizia como as coisas seriam, ela começava a pensar em como poderia fazer diferente. Sua mãe sempre a chamara de mula teimosa e colocara a culpa disso no sangue ghost. “É o seu maldito sangue ghost”, como se ser um quarto selvagem tivesse sido escolha da própria Shy e não culpa de sua mãe ter escolhido dormir com um andarilho meio-ghost que se revelou – não exatamente para sua surpresa – um bêbado inútil. Shy iria lutar. Sem dúvida iria perder, mas lutaria. Faria com que aqueles desgraçados a matassem, e pelo menos isso roubaria deles metade da recompensa. Não seria de esperar que pensamentos assim firmassem a mão, mas firmaram a dela. A pequena faca ainda tremia, mas naquele momento por causa da força com que ela a agarrava. Para um homem que se proclamava um grande rastreador, Neary tinha alguma dificuldade em se manter quieto. Ela ouviu sua respiração quando ele parou no alto da escada, perto o bastante para tocar, não fosse pela parede de tábuas entre eles. Uma tábua gemeu quando ele deslocou o peso, e o corpo inteiro de Shy ficou tenso, todos os pelos arrepiados. Então ela o viu – não passando em disparada pela porta na sua direção com o machado em punho e vontade de matar nos olhos, mas se esgueirando pelo balcão, seguindo a trilha das pegadas ensanguentadas, arco tensionado apontando na direção errada. Quando recebia um presente, Shy sempre acreditava em agarrá-lo com as duas mãos em vez de pensar em como agradecer. Ela disparou sobre as costas de Neary, mostrando os dentes e com um rosnado baixo subindo de sua garganta. A cabeça dele virou rapidamente, o branco dos olhos aparecendo e o arco em seguida, a ponta da flecha refletindo a pouca luz que podia ser encontrada naquele lugar abandonado. Ela se agachou e agarrou as pernas dele, o ombro batendo com força em sua coxa e fazendo com que ele grunhisse, a mão segurando o pulso, prendendo-o por trás do traseiro de Neary, seu nariz de repente tomado pelo seu fedor de suor de cavalo azedo. A corda do arco foi solta, mas Shy já estava se levantando, rosnando, gritando, saltando e – embora ele fosse um homem grande – então jogou Neary por sobre a balaustrada do modo como costumava erguer um saco de cereais na fazenda da mãe. Ele flutuou no ar por um momento, boca escancarada e olhos arregalados em choque, depois despencou com um grito soprado e colidiu contra as tábuas do chão. Ela piscou, mal conseguindo acreditar naquilo. Seu couro cabeludo queimava, e ela botou o dedo, meio esperando sentir a flecha atravessando seu cérebro, mas se virou e viu que esta se fincara na parede atrás, um resultado consideravelmente mais feliz do seu ponto de vista. Mas havia sangue, pegajoso em seus cabelos, escorrendo para a testa. Talvez a corda do arco a tivesse arranhado. Se pegasse aquele arco ela teria uma chance. Deu um passo na direção da escada, mas depois ficou imóvel. Jeg estava à porta de entrada, sua espada desenhando uma comprida curva negra contra a rua banhada de sol. – Fumaça! – rugiu ele, e ela disparou pelo balcão como um coelho, seguindo a própria trilha de pegadas ensanguentadas rumo a lugar nenhum, ouvindo as botas pesadas de Jeg estalando na direção da escada. Ela atravessou a porta final, com toda força, lançando-se para a luz, para outra sacada atrás do prédio. Subiu na balaustrada com um pé descalço – melhor seguir sua tendência em ser do contra e esperar que isso de algum modo a leve em frente do que parar para pensar – e saltou. Ela se jogou, retorcendo-se, na sacada frágil do prédio do outro lado do beco estreito, batendo mãos e pés como se um surto nos movimentos pudesse levá-la mais longe. Ela agarrou a balaustrada, a madeira batendo em suas costelas, escorregou, gemendo, tentando se firmar, lutou desesperadamente para se erguer, sentiu algo se soltar... E com um gemido da madeira torturada toda a coisa gasta pelo tempo se soltou da lateral do prédio. Mais uma vez, Shy teve um fugaz momento no ar para pensar na situação. Novamente nada boa, numa avaliação rápida. Estava começando a uivar quando seu velho inimigo, o chão, a pegou – como sempre fazia –, dobrou suas pernas, a girou e lançou de lado, tirando seu fôlego. Shy tossiu, depois gemeu, depois cuspiu mais terra. O fato de que estivera certa sobre não ser a última vez que sua boca se enchia de terra não era exatamente um consolo. Viu Jeg de pé na sacada de onde ela pulara. Ele empurrou o chapéu para trás e deu um risinho, depois voltou para dentro. Ela ainda tinha nas mãos um pedaço da balaustrada, bem apodrecido. Um pouco como suas esperanças. Jogou fora enquanto rolava, esperando aquela dor nauseante que lhe diria que ela estava acabada. Mais uma vez, não veio. Ela podia se mover. Girou os pés e imaginou que podia se levantar. Mas achou que deveria deixar isso de lado por ora. As chances eram de que só conseguisse fazer isso mais uma vez. Ela se arrastou para fora da bagunça de madeira quebrada junto à parede, sua sombra se esticando na direção da porta, gemendo de dor ao ouvir os passos pesados de Jeg do lado de dentro. Começou a recuar usando traseiro e cotovelos, arrastando uma perna depois da outra, a faquinha escondida sob o pulso, o outro punho agarrando a terra. – Para onde você foi? – perguntou Jeg, se abaixando sob a viga baixa e indo para o beco. Ele era um homem grande, mas naquele exato instante parecia um gigante. Meia cabeça mais alto que Shy, mesmo com ela de pé, e não muito menos que o dobro do seu peso, mesmo que ela tivesse comido no dia. Ele caminhou a passos largos, a língua no lábio inferior, de modo que ele se projetava, espada pesada frouxamente na mão, aproveitando o grande momento. – Deu um belo golpe em Neary, ahn? – falou, empurrando um pouco para cima a pala do chapéu alto para mostrar a marca de bronzeado na testa. – Você é mais forte do que parece. Mas o garoto é tão burro que poderia ter caído sem ajuda. Você não vai dar um golpe em mim. Isso eles veriam, mas ela deixaria sua faca falar por ela. Mesmo uma faquinha pode ser um pedaço de metal eloquente para cacete se você a enfiar no lugar certo. Ela se arrastou para trás, levantando poeira, fazendo parecer que estava tentando se levantar, depois, baixou novamente com um gemido quando a perna esquerda sustentou o peso. Parecer muito ferida não exigia um grande esforço de interpretação. Ela podia sentir o sangue escorrendo de seus cabelos e fazendo cócegas em sua testa. Jeg saiu das sombras e o sol baixo bateu em seu rosto, fazendo com que apertasse os olhos. Exatamente como ela queria. – Ainda me lembro do dia em que coloquei os olhos em você pela primeira vez – continuou ele, adorando o som do próprio falatório. – Dodd foi até mim, todo excitado, e disse que tinha encontrado Fumaça, cujo rosto de assassina está em todos os cartazes até perto de Rostod, quatro mil marcos oferecidos por sua captura. As histórias que contam sobre você! – Ele soltou um “uau”, e ela se arrastou para trás novamente, exercitando aquela perna esquerda sob o corpo, garantindo que iria funcionar quando fosse necessário. – Dava para acreditar que você era um demônio com duas espadas na mão do modo como pronunciam seu nome. Imagine a porra da minha decepção quando descobri que não era nada além de uma garota assustada com dentes separados e um cheiro forte de mijo. Como se Jeg cheirasse a campinas no verão! Ele avançou mais um passo, estendendo a mão grande na sua direção. – Agora, não resista: você vale mais para mim viva. Eu não quero... Ela jogou a terra com a mão esquerda enquanto golpeava para cima com a direita, se levantando. Ele desviou a cabeça, rosnando enquanto a poeira caía sobre seu rosto. Atacou às cegas quando ela se lançou contra ele abaixada, e a espada passou zunindo acima de sua cabeça, o vento produzido batendo nos cabelos, o peso o lançando de lado. Ela agarrou a aba do casaco dele com a mão esquerda e com a direita enfiou sua faca de mesa na mão que segurava a espada. Ele deu um grunhido abafado enquanto ela o golpeava novamente, a lâmina rasgando o braço do casaco e também o braço dentro dele, quase atingindo sua perna. Estava erguendo a faca novamente quando o punho dele se lançou sobre a lateral da boca dela, jogando-a para trás, os pés descalços lutando contra a terra. Ela se apoiou na esquina do prédio e ficou ali um momento, tentando afastar a luz do seu crânio. Viu Jeg a um passo ou dois de distância, dentes arreganhados espumando enquanto tentava passar a espada da mão direita caída para a esquerda, dedos atrapalhados com a elegante trama de latão. Quando as coisas aconteciam, Shy tinha a tendência de simplesmente fazer, sem pensar em misericórdia, sem pensar em resultado, sem pensar em quase nada. Era o que a tinha mantido viva durante toda aquela merda. E por falar nisso, era o que a colocara nela. Muitas bênçãos são bênçãos dúbias, assim que tem de viver com elas, e ela tinha uma maldição de pensar demais depois da ação, mas essa era outra história. Se Jeg conseguisse uma boa pegada naquela espada ela estaria morta, simples assim, então antes mesmo que a rua parasse de girar, ela investiu de novo. Ele tentou libertar um braço, mas ela conseguiu pegálo com a mão esquerda cravada, pressionando-o, mantendo-se firme junto ao casaco dele enquanto golpeava loucamente com a faca – na barriga, nas costelas, de novo nas costelas –, ela rosnando e ele grunhindo a cada investida da lâmina, a empunhadura escorregadia em sua mão dolorida. Ele agarrou sua camisa, as costuras se soltando enquanto a manga rasgava em parte, tentou empurrá-la para longe enquanto ela o esfaqueava mais uma vez, mas não teve forças, apenas a fez recuar um passo. A cabeça dela estava clareando, e ela manteve o equilíbrio, mas Jeg tropeçou e caiu de joelho. Ela ergueu a faca alto nas duas mãos e a baixou diretamente sobre aquele chapéu idiota, achatando-o, e deixando a lâmina enterrada até o cabo no alto da cabeça de Jeg. Ela cambaleou para trás, esperando que ele caísse de cara. Em vez disso ele de repente se lançou para cima, como um camelo que ela um dia vira numa feira, a pala do chapéu empurrada sobre os olhos até a base do nariz e o cabo da faca se projetando para cima. – Para onde você foi? – perguntou, as palavras confusas como se sua boca estivesse cheia de cascalho. – Fumaça? – chamou, se lançando para um lado, depois para o outro. – Fumaça? Ele deslizou para o seu lado, levantando poeira, espada pendurada da mão direita ensanguentada, a ponta traçando sulcos na poeira ao redor dos seus pés. Ele estendeu a esquerda para cima, dedos rígidos, mas pulso caído, e começou a apalpar seu chapéu como se tivesse algo nos olhos que quisesse limpar. – Fumaça? Um lado do rosto dele retorcia, estremecia, vibrava de uma forma antinatural. Ou talvez fosse bastante natural para um homem com uma faca cravada no cérebro. – Fumaça? Sangue pingava da aba curvada de seu chapéu, deixando fios vermelhos em sua bochecha, a camisa já encharcada pela metade; mas ele continuava a avançar, braço direito ensanguentado sacudindo, o punho da espada batendo contra a perna. – Maça? Ela recuou, olhando, as próprias mãos flácidas e toda a sua pele formigando, até bater com as costas na parede atrás. – Aça? – Cale a boca! E se lançou sobre ele com as palmas das duas mãos, empurrando-o para trás, espada se soltando da mão, chapéu ensanguentado ainda preso à cabeça com a faca. Ele rolou lentamente até ficar de barriga para cima, braço direito sacudindo. Deslizou a outra mão para sob o ombro como se fosse se erguer. – Ah – murmurou sobre a poeira. Depois ficou imóvel. Shy virou a cabeça e cuspiu sangue. Bocados demais de sangue nos meses anteriores. Seus olhos estavam molhados, e os limpou com as costas da mão trêmula. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Mal parecia ter qualquer papel nisso. Um pesadelo do qual iria despertar. Fechou os olhos com força, depois os abriu, e ele continuava ali. Inspirou e expirou com força, limpou saliva do lábio, sangue da testa, inspirou novamente e fez força para expirar. Depois pegou a espada de Jeg, trincando os dentes para conter a ânsia de vômito, que subia em ondas com a dor latejando no lado do rosto. Merda, ela queria se sentar! Apenas parar. Mas se obrigou a virar. Obrigou-se a ir até a porta dos fundos da taverna. Aquela pela qual Jeg passara, ainda vivo, alguns momentos antes. É necessária toda uma vida de trabalho duro para produzir um homem. Só leva alguns momentos para acabar com um. Neary havia se arrastado para fora do buraco que sua queda abrira nas tábuas do chão, agarrando a perna da calça ensanguentada e parecendo bastante puto com isso. – Você pegou aquela piranha desgraçada? – perguntou, olhando apertado para a passagem. – Ah, sem dúvida. Os olhos dele se arregalaram, e ele tentou se arrastar na direção do arco, que não estava distante, gemendo o tempo todo. Ela ergueu a grande espada de Jeg à medida que se aproximou, e Neary se virou, olhos arregalados de terror, erguendo um braço, desesperado. Ela o acertou com toda força com a lateral da espada e ele gemeu, apertando-o junto ao peito. Depois, ela o atingiu na lateral da cabeça e o rolou, soluçando, sobre as tábuas. Passou por ele, deslizando a espada pelo cinto, pegou o arco e arrastou algumas flechas da aljava. Seguiu na direção da porta, prendendo uma à corda no caminho, e olhou para a rua. Dodd ainda estava catando moedas na poeira e colocando-as na bolsa, seguindo na direção do poço. Insensível ao destino de seus dois companheiros. Nada tão surpreendente quanto você poderia pensar. Se uma palavra resumia Dodd era “insensível”. Shy desceu os degraus da taverna no limite, onde era menos provável que rangessem em alerta, no meio do caminho erguendo o arco e fazendo pontaria em Dodd, curvado sobre a poeira, de costas para ela, uma mancha escura de suor no meio de sua camisa. Ela pensou sobre fazer da mancha de suor a mosca da mira e atirar nele pelas costas dali mesmo. Mas matar um homem não é fácil, especialmente depois de pensar muito. Ela o viu pegar a última moeda e jogá-la na bolsa, então se erguer, puxando os cordões, depois se virar, sorrindo. – Eu peguei as... Eles ficaram assim algum tempo. Ele, parado na rua empoeirada, bolsa de prata em uma das mãos, um sorriso inseguro iluminado ao sol, mas com os olhos parecendo assustados à sombra de seu chapéu barato. Ela no degrau de baixo da taverna, pés descalços ensanguentados, boca cortada, cabelo ensanguentado grudado numa testa ensanguentada, mas com o arco apontado e firme. Ele lambeu os lábios, engoliu, depois os lambeu novamente. – Onde está Neary? – Em mau estado – respondeu ela, surpresa com o tom férreo de sua voz. Soava como alguém que ela nem conhecia. A voz de Fumaça, talvez. – Onde está meu irmão? – Ainda pior. Dodd engoliu, pescoço suado se movendo, começando a recuar suavemente. – Você o matou? – Esqueça os dois e fique imóvel. – Olhe, Shy, você não vai atirar em mim, vai? Não depois de tudo pelo que passamos. Você não vai atirar. Não em mim. Vai? – perguntou, a voz cada vez mais alta, mas ele continuava a recuar na direção do poço. – Eu não queria isto. Não foi minha ideia! – Claro que não. É preciso pensar para ter uma ideia, e você não é capaz disso. Você só vai junto. Mesmo que isso signifique eu ser enforcada. – Agora, olhe só, Shy... – Fique imóvel, eu já disse – falou, esticando o arco até o fim, a corda penetrando fundo em seus dedos ensanguentados. – Cacete, você é surdo, garoto? – Olhe, Shy, vamos resolver isto, hein? Ele ergueu a palma da mão trêmula como se aquilo pudesse deter uma flecha. Seus olhos azuis claros estavam fixos nela, e de repente ela teve uma lembrança da primeira vez que o viu, recostado no estábulo, um sorriso fácil e despreocupado, nem um pouco inteligente, mas muito divertido. Ela tivera uma profunda carência de diversão desde que saíra de casa. Ninguém diria que saíra de casa para encontrar isso. – Sei que errei, mas... Eu sou um idiota. Ele tentou dar um sorriso, não mais firme que a palma da mão. Ele bem tinha valido um sorriso ou dois, pelo menos no começo e, embora não fosse um grande amante, tinha mantido a cama aquecida, o que era alguma coisa, e a fizera sentir como se não estivesse sozinha de um lado com todo o resto do mundo do outro, o que era algo mais. – Fique imóvel – repetiu ela, porém mais suavemente. – Você não vai atirar em mim – disse, ainda recuando na direção do poço. – Sou eu, certo? Eu. Dodd. Apenas não atire em mim. Ainda recuando. – O que eu vou fazer é... Ela atirou nele. Há uma coisa estranha num arco. Encordoar, esticar, colocar a flecha, fazer pontaria... Tudo isso demanda esforço, habilidade e decisão. Soltar a corda não é nada. Você só para de segurar. De fato, assim que você esticou e apontou, é mais fácil disparar que não disparar. Dodd estava a menos de doze passos de distância, e a seta disparou pelo espaço entre eles, errou a mão por um átimo e se cravou silenciosamente em seu peito. Isso a surpreendeu, a falta de som. Mas, afinal, carne é macia. Especialmente em comparação a uma ponta de flecha. Dodd deu mais um passo instável, como se não tivesse ainda compreendido que fora atingido, os olhos arregalados. Depois piscou para a seta. – Você atirou em mim – sussurrou ele e caiu de joelhos, o sangue já se espalhando por sua camisa numa mancha oval escura. – Eu o avisei. Ela jogou o arco no chão, de repente furiosa com ele e também com o arco. Ele olhou para ela. – Mas não achei que você faria isso. Ela olhou de volta. – Nem eu. Um momento de silêncio, e o vento soprou mais uma vez e agitou a poeira ao redor deles. – Desculpe. – Desculpe? – grunhiu ele. Podia ter sido a coisa mais idiota que ela já tinha dito, e isso enfrentando uma concorrência feroz, mas o que mais poderia dizer? Nenhuma palavra iria arrancar aquela flecha. Ela meio que deu de ombros. – Acho. Dodd fez uma careta, erguendo a prata na mão, se virando para o poço. Shy ficou boquiaberta e começou a correr enquanto ele tombava de lado, lançando o saco no ar. Ele girou várias vezes, fazendo uma curva e começando a cair, os barbantes adejando, a mão estendida de Shy se esticando enquanto corria, se jogava, caía... Ela grunhiu quando suas costelas machucadas bateram na parede ao redor do poço, o braço direito mergulhando na escuridão. Por um momento ela achou que cairia atrás da bolsa – o que provavelmente teria sido um belo final –, e então seus joelhos caíram sobre a terra do lado de fora. Ela a pegara por um dos cantos de baixo, lona frouxa agarrada por unhas quebradas, cordões pendurados enquanto terra e pedras soltas caíam ao redor. Shy sorriu. Pela primeira vez naquele dia. Daquele mês, talvez. E então a bolsa se abriu. Moedas despencaram para a escuridão numa chuva reluzente, prata retinindo e chacoalhando pelas paredes de terra, desaparecendo no nada escuro, depois silêncio. Ela se empertigou, anestesiada. Recuou lentamente do poço, se abraçando com uma das mãos enquanto a bolsa vazia pendia da outra. Olhou para Dodd, caído de costas com a flecha se projetando para cima do peito, os olhos úmidos fixos nela, costelas se movimentando rapidamente. Ela ouviu a respiração rasa desacelerar, depois parar. Shy ficou um tempo ali de pé, depois se curvou e vomitou no chão. Não muito, já que não comera nada naquele dia, mas suas tripas travaram com força e garantiram que colocasse para fora o que havia. Ela tremeu tanto que achou que iria cair, mãos nos joelhos, fungando bile pelo nariz e cuspindo. Maldição, suas costelas doíam. Seu braço. Sua perna. Seu rosto. Tantos arranhões, torções e hematomas que ela mal conseguia distinguir um do outro: seu corpo inteiro era um maldito latejar esmagador. Seus olhos se voltaram para o cadáver de Dodd, ela teve outra ânsia de vômito e olhou para o horizonte, fixando-os naquela linha tremeluzente de nada. Não de nada. Havia poeira se erguendo lá. Ela limpou o rosto na manga rasgada mais uma vez, já tão imunda que provavelmente a deixava mais suja que limpa. Ela se empertigou, apertando os olhos para o ponto distante, mal capaz de acreditar naquilo. Cavaleiros. Sem dúvida. A uma boa distância, mas uns doze. – Ah, inferno – sussurrou, e mordeu os lábios. Se as coisas continuassem acontecendo daquele jeito ela pularia logo para a parte sangrenta. – Ah, inferno. E Shy colocou as mãos sobre os olhos, os fechou com força e se escondeu numa escuridão autoimposta na esperança desesperada de, quem sabe, poder ter se enganado. Dificilmente teria sido seu primeiro engano, não é mesmo? Mas, quando afastou as mãos, a poeira ainda estava lá. O mundo era um valentão malvado, tudo bem, e quanto mais por baixo você estava, mais ele gostava de chutar você. Shy colocou as mãos nos quadris, curvou as costas e gritou para o céu, a palavra durando todo o tempo que seus pulmões doloridos permitiram. – Porra! O eco reverberou nos prédios e teve uma morte rápida. Não houve resposta. Talvez o leve zumbido de uma mosca já demonstrando algum interesse por Dodd. O cavalo de Neary a olhou por um momento, depois desviou os olhos, nada impressionado. E Shy tinha então uma garganta irritada para acrescentar aos seus males. Foi obrigada a se fazer as perguntas habituais. “E agora, o que eu faço, porra?” Trincou os dentes enquanto tirava as botas de Dodd e se sentava na poeira ao lado para calçá-las. Não era a primeira vez que tinham se esticado juntos na terra, ele e ela. Mas a primeira vez com ele morto. As botas dele ficavam largas demais nela, mas era de longe melhor do que ficar descalça. Voltou para a taverna batendo os pés dentro delas. Neary estava dando alguns gemidos lamentáveis enquanto lutava para se levantar. Shy o chutou no rosto e depois nas costas, pegou o resto das flechas na aljava e também sua pesada faca de cinto. De volta ao sol, ela pegou o arco, enfiou na cabeça o chapéu de Dodd, também um pouco largo demais, mas pelo menos oferecendo alguma proteção contra o sol. Depois reuniu os três cavalos e os amarrou em fila – uma operação delicada, já que o grande garanhão de Jeg era um desgraçado malvado e parecia determinado a dar um coice na cabeça dela. Quando terminou, ela olhou na direção daquelas trilhas de poeira. Estavam indo na direção da cidade, e rápido. Olhando melhor, ela avaliou entre nove e dez, o que era dois ou três melhor do que doze, mas ainda assim uma enorme inconveniência. Agentes do banco atrás do dinheiro roubado. Caçadores de recompensa querendo uma chance. Outros fora da lei que tinham ficado sabendo do roubo. Um roubo que naquele momento estava no fundo de um poço, na verdade. Poderia ser qualquer um. Shy tinha uma tendência sobrenatural a fazer inimigos.
Ela se pegou olhando para Dodd, caído de barriga na poeira com os pés descalços flácidos atrás. A única coisa em que tinha pior sorte era com amigos. Como chegara àquele ponto? Ela balançou a cabeça, cuspiu pelo pequeno espaço entre os dentes da frente e montou na sela do cavalo de Dodd. Ela o virou no sentido oposto daquelas nuvens de poeira que se aproximavam, sem saber para qual quadrante da bússola. Esporeou o cavalo.
.
.
MEGAN ABBOTT
Megan Abbott nasceu na região de Detroit, formou-se em literatura inglesa na Universidade de Michigan, fez doutorado em literatura inglesa e americana na Universidade de Nova York e lecionou literatura, redação e cinema na Universidade de Nova York e na Universidade Estadual de Nova York em Oswego. Publicou seu primeiro romance, Die a Little, em 2005, e desde então é considerada uma das mais destacadas autoras de mistério noir moderno, citada pelo San Francisco Chronicle como pronta para “reivindicar o trono de melhor prosa na ficção policial desde Raymond Chandler”. Entre seus romances estão Queenpin, que recebeu o Edgar Award em 2008, The Song is You, Bury Me Deep e The End of Everything. Seu romance mais recente é Dare Me. Trabalhou como editora na coletânea A Hell of a Woman, An Anthology of Female Noir, e publicou o ensaio The Street Was Mine: White Masculinity and Urban Space in Hardboiled Fiction and Film Noir. Mora em Forest Hills, Nova York, e mantém o site meganabbott.com. Na história sutil porém perturbadora que se segue ela nos mostra que há algumas coisas que você não consegue superar, por mais que tente, e que certas visões do coração, mesmo daqueles que mais amamos, você não consegue deixar de ver após ter visto.
.
OU MEU CORAÇÃO ESTÁ PARTIDO
Ele esperou no carro. Tinha estacionado sob uma daquelas longas filas de luzes. Ninguém mais queria estacionar ali. Ele imaginava o motivo. No terceiro veículo depois do seu, ele viu as costas de uma mulher contra uma janela, o cabelo sacudindo. Uma vez, ela virou a cabeça e ele quase viu seu rosto, o azul dos dentes enquanto sorria. Quinze minutos se passaram antes que Lorie chegasse cambaleando pelo estacionamento, os saltos estalando. Ele ficara trabalhando até tarde e nem mesmo sabia que ela não estava em casa até chegar lá. Quando ela atendeu o celular, lhe disse onde estava, um bar do qual ele nunca ouvira falar, numa parte da cidade que não conhecia. – Eu só queria algum barulho e pessoas – explicou ela. – Só isso, mais nada. Ele perguntou se queria que fosse pegá-la. – Tá – respondeu ela. No caminho para casa ela começou aquilo de “rir-chorar” que fazia ultimamente. Ele queria ajudá-la, mas não sabia como. Isso o fez recordar do tipo de garotas que costumava namorar no ensino médio, aquelas que escreviam nas mãos com canetas e se cortavam nas cabines dos banheiros da escola. – Eu não dançava havia muito tempo, e se fecho os olhos ninguém consegue ver – dizia ela, olhando pela janela, a cabeça apoiada no vidro. – Ninguém lá tinha me reconhecido, até uma mulher que eu não conhecia me reconhecer. Ela ficou gritando comigo. Depois me seguiu até o banheiro e disse estar contente por minha garotinha não poder me ver naquele momento. Ele sabia o que as pessoas iriam dizer. Que estava dançando num bar vagabundo de pegação. Não iriam dizer que chorou toda a viagem para casa, que não sabia o que fazer consigo mesma, que ninguém sabe como irá reagir quando algo assim acontece. O que provavelmente não acontecerá. Mas ele também queria se esconder, queria ele mesmo encontrar uma cabine de banheiro em outra cidade, outro estado e nunca mais ver qualquer um que conhecesse, especialmente sua mãe ou sua irmã, que passavam o dia inteiro na internet tentando espalhar as notícias sobre Shelby, recolhendo dicas para a polícia. As mãos de Shelby – bem, as pessoas sempre falam sobre mãos de bebê, não é mesmo? –, elas eram como florezinhas apertadas e ele adorava colocar as palmas das suas sobre elas. Ele nunca soube que se sentiria assim. Nunca soube que seria o tipo de cara – até mesmo que havia esse tipo de cara – que sentiria o cheiro de leite do cobertor de bebê da filha e se sentiria aquecido por dentro. E até, algumas vezes, apertaria o rosto sobre ele.
Ele demorou muito para tirar as botas de caubói vermelho-escuro que ela calçava, e que ele não reconheceu.
Quando tirou seu jeans, também não reconheceu a lingerie. Na frente havia uma borboleta preta, as asas adejando sobre suas coxas a cada puxão. Olhou para ela e teve uma lembrança de seu primeiro encontro. Lorie pegando sua mão e a passando sobre sua barriga, suas coxas. Dizendo que um dia pensara em ser dançarina, e que talvez pudesse ser. E que se algum dia tivesse um filho faria cesariana, pois todo mundo sabia o que acontecia com as barrigas das mulheres depois, “para não mencionar o que acontece lá embaixo”, ela tinha dito, rindo, e colocado sua mão lá a seguir. Ele tinha esquecido tudo aquilo, e também outras coisas, mas naquele momento as coisas continuavam voltando e o deixando maluco. Ele deu um copo alto de água a ela e a obrigou a beber. Depois o encheu de novo e colocou ao seu lado. Ela não dormiu como uma pessoa bêbada, mas como uma criança, as pálpebras se movendo em um sonho e um pequeno sorriso esticando sua boca. Com o luar entrando, parecia que ele a tinha vigiado a noite toda, mas em algum momento deve ter adormecido. Quando acordou, ela estava com a cabeça em sua barriga e o acariciava, não totalmente desperta. – Estava sonhando que tinha engravidado de novo – murmurou. – Era como Shelby de novo. Talvez pudéssemos adotar. Há muitos bebês por aí precisando de amor.
Eles tinham se conhecido seis anos atrás. Ele trabalhava para a mãe, que era dona de um pequeno prédio de apartamentos no lado norte da cidade. Lorie morava no primeiro andar, onde a janela era alta e você podia ver as pessoas caminhando pela calçada. Sua mãe chamava o local de um “apartamento térreo fundo”. Ela morava com outra garota e às vezes elas chegavam muito tarde, rindo e se jogando uma sobre a outra daquele modo que as garotas fazem, sussurrando coisas, as pernas nuas e brilhantes em minissaias. Ele ficava imaginando o que diziam. Na época, ele ainda estava na escola e trabalhava à noite e nos fins de semana, trocando carrapetas em torneiras que pingavam, colocando o lixo para fora. Certa vez estava na frente do prédio, lavando as latas de lixo com alvejante e mangueira e ela passou apressada por ele, seu casaco pequeno erguido sobre o rosto. Falava ao telefone e se movia tão rápido que ele quase não a viu e por pouco não a molhou com a mangueira. Por um segundo viu seus olhos, borrados e úmidos. – Eu não estava mentindo – dizia ela ao telefone enquanto enfiava a chave na porta da frente, empurrando-a com um dos ombros. – Não sou eu a mentirosa aqui. Certa noite, não muito tempo depois, ele chegou em casa e havia um bilhete sob a porta. Dizia:
Ou meu coração está partido ou eu não paguei a conta. Obrigada, Lorie, 1-A Ele teve de ler quatro vezes antes de entender. Ela sorriu ao abrir a porta, cuja corrente de segurança cruzou sua testa. Ele ergueu a chave inglesa. – Chegou bem a tempo – falou ela, apontando para o aquecedor.
Ninguém nunca acha que alguma coisa vai acontecer com sua menininha. Era o que Lorie continuava a dizer. Tinha dito isso aos repórteres, à polícia, todos os dias durante as três semanas desde o acontecido. Ele a observou com os detetives. Era como na TV, só que completamente diferente. Ficou pensando em por que nada nunca era como você pensava que seria, e então se deu conta de que era porque nunca pensou que seria você. Ela não conseguia ficar sentada quieta, os dedos brincando com as pontas do cabelo. Às vezes, num sinal de trânsito, tirava tesouras de unha da bolsa e cortava as pontas quebradas. Quando o carro começava a se mover, ela agitava a mão do lado de fora da janela, espalhando os fios ao vento. Era o tipo de coisa despreocupada e estranha que a fazia tão diferente de todas as outras garotas que tinha conhecido. Especialmente por fazer isso na frente dele. Ele ficava surpreso com o quanto tinha gostado disso. Mas naquele momento tudo parecia diferente e ele podia ver que os detetives a observavam, olhavam para ela como se fosse uma garota de minissaia, rodopiando num banco de bar e agitando o cabelo para os homens. – Precisamos que comece do começo novamente – falou o policial, e aquela parte foi como na TV. – Tudo de que se lembra. – Ela já repetiu isso muitas vezes – defendeu ele, colocando a mão sobre a dela e olhando para os detetives, cansado. – Eu estava falando com o senhor, sr. Ferguson – retrucou o detetive, olhando para ele. – Apenas com o senhor.
Eles levaram Lorie para o escritório e ele podia vê-la pela janela, colocando muito creme em seu café, lambendo os lábios. Ele também sabia o que aquilo parecia. Os jornais tinham publicado uma foto dela numa lanchonete que vendia smoothies. A legenda dizia: “E quanto a Shelby?” Deviam ter tirado através da vitrine. Ela estava pedindo algo no balcão, e sorria. Sempre a flagravam quando estava sorrindo. Eles não compreendiam que ela sorria quando estava triste. Às vezes chorava quando alegre, como no casamento deles, quando chorou o dia inteiro, o rosto rosado e brilhante, estremecendo junto a seu peito. “Nunca pensei que você iria”, tinha dito ela. “Nunca pensei que eu iria. Que isto poderia acontecer.” Ele não sabia o que ela queria dizer, mas adorava senti-la aninhada nele, seus quadris pressionados nele como faziam quando não conseguia se conter e parecia se aferrar para não sair voando da própria Terra. – Então, sr. Ferguson – começou o detetive. – O senhor chegou em casa do trabalho e não havia ninguém lá? – Isso. Pode me chamar de Tom. – Tom – concordou o detetive, recomeçando, mas o nome parecia desconfortável em sua boca, como se ele preferisse não dizê-lo. Na semana anterior, ele o chamara de Tom. – Era incomum chegar em casa àquela hora e elas não estarem lá? – Não. Ela gostava de se manter ocupada. Era verdade, porque Lorie nunca ficava parada, e algumas vezes prendia Shelby na cadeirinha de bebê e dirigia por horas, percorrendo 150 ou trezentos quilômetros. Ela a levava na cidade de Mineral Point e tirava fotos das duas na frente da água. Ele as recebia pelo telefone no trabalho e sempre o fazia sorrir. Ele gostava de como nunca era uma daquelas mulheres que ficam em casa assistindo a programas de tribunal ou canais de compras. Ela trabalhava 25 horas por semana na ACM enquanto a mãe dele ficava com Shelby. Toda manhã corria oito quilômetros, colocando Shelby no carrinho de corrida. Fazia jantar toda noite e às vezes até aparava o gramado quando ele mesmo estava ocupado demais. Nunca parava de se mover. Era isso o que o pessoal dos jornais e da TV adorava. Adoravam tirar fotos dela correndo de short curto, conversando pelo telefone no carro, olhando revistas de moda na fila da mercearia. “E quanto a Shelby?”, sempre diziam as legendas. Decididamente nunca a entenderam. Ele era o único. – Então – falou o detetive, arrancando-o de seus pensamentos –, o que o senhor fez quando encontrou a casa vazia? – Liguei para o celular dela. Tinha ligado. Ela não atendeu, mas isso também não era incomum. Não se preocupou em contar isso a eles. Que tinha ligado quatro ou cinco vezes, sempre caindo direto na caixa postal, até que ela atendeu, só na última chamada. A voz dela soava estranha, baixa, como se pudesse estar no consultório do médico, ou no banheiro feminino. Como se estivesse se forçando a ficar quieta e não chamar atenção. – Lorie? Você está bem? Onde vocês estão? Tinha havido uma longa pausa, e ele achou que ela tinha batido de carro. Por um segundo enlouquecido, pensou que ela poderia estar no hospital, as duas quebradas e com hematomas. Lorie era uma motorista descuidada, sempre enviando mensagens de texto do carro. Imagens ruins surgiram em sua cabeça. Uma vez, ele namorara uma garota que tinha um sapatinho de bebê pendurado no espelho retrovisor. Dissera que era para se lembrar de dirigir com cuidado, o tempo todo. Ninguém lhe dizia isso depois dos 16 anos. – Lorie, apenas me fale – pediu ele, tentando manter a voz firme, mas gentil. – Aconteceu uma coisa. – Lorie, respire e me conte – pediu ele novamente, como depois de uma briga dela com o irmão ou o chefe.
– Para onde ela foi? – veio a voz dela. – E como vai me encontrar? É uma garotinha. Não sabe nada. Deviam colocar plaquinhas neles como faziam conosco quando éramos crianças, você se lembra disso? Ele não se lembrava disso, e havia um zumbido em sua cabeça que tornava difícil ouvir. – Lorie, você precisa me contar o que está acontecendo. Então ela contou. Disse que passara a manhã toda dirigindo, procurando cortadores de grama que tinha visto à venda na Craigslist. Estava cansada e decidira parar para tomar um café num lugar caro. Ela via a mulher ali o tempo todo. Conversavam pela internet sobre como o café era caro, mas como não conseguiam evitar. E, afinal, o que era um Americano? E, é, elas conversavam sobre os filhos. Estava bastante certa de que a mulher dissera que tinha filhos. Dois, achava. E iam ser apenas dois minutos, no máximo cinco. – O que ia ser cinco minutos? – quis saber ele. – Não sei como aconteceu, mas derramei meu café, por toda parte. Em cima do meu casaco branco novo. Aquele que você me deu no Natal. Ele se lembrava dela abrindo as caixas, papel de seda voando. Ela tinha dito que ele era a única pessoa que já tinha comprado para ela roupas que vinham em caixas, com papel de seda e lacres dourados. Ela dera piruetas com o casaco e dissera: “Ah, como ele cintila.” Subindo em seu colo, ela sorrira e dissera que apenas um homem daria um casaco branco à mãe de uma criança pequena. – O casaco estava encharcado – falou ela. – Perguntei à mulher se podia dar uma olhada em Shelby enquanto eu ia ao banheiro. Demorou um pouco porque precisei pegar a chave. Uma daquelas chaves pesadas que eles lhe dão. Quando saiu do banheiro a mulher tinha sumido, assim como Shelby.
Ele não se lembrava de em qualquer momento ter achado que a história não fazia sentido. Era o que tinha acontecido. Era o que tinha acontecido a eles, e parte de toda a impossível sequência de acontecimentos que levara a isso. Que levara a Shelby ter sumido sem que ninguém soubesse onde estava. Mas pareceu claro quase desde o princípio que a polícia parecia achar que não estava recebendo todas as informações, ou que a informação não fazia sentido. – Eles não gostam de mim – comentara Lorie. E ele lhe dissera que isso não era verdade e de qualquer forma isso não tinha a ver com nada, mas talvez tivesse. Ele desejou que tivessem visto Lorie quando passara pela porta da frente naquele dia, a bolsa com o fecho aberto, o casaco branco ainda encharcado por causa do café derramado, a boca tão escancarada que ele conseguia ver o vermelho interior, irritado e lacerado. Horas depois, com a família ao redor deles, seu corpo estremecendo junto ao dele enquanto o irmão falava sem parar sobre o Alerta de Rapto de Criança, a Lei de Megan, sua aula de justiça penal e seus colegas policiais da academia, ele a sentia se apertando contra seu corpo e via um cacho sedoso enfiado na gola do suéter, um cacho dos cabelos branco-anjo de Shelby. Ao final da segunda semana, a polícia não tinha descoberto nada, ou se tinha, não estava contando. Algo parecia ter mudado, ou piorado. – Qualquer um faria isso – disse Lorie. – As pessoas fazem isso o tempo todo. Ele viu a detetive olhar para ela. Era a detetive de rabo de cavalo firme, que estava sempre apertando os olhos para Lorie. – Fazem o quê? – perguntou a detetive. – Pedir a alguém para dar uma olhada em seu filho só por um minuto – completou Lorie, as costas enrijecendo. – Não um cara. Eu não a teria deixado com um homem. Não a teria deixado com uma mulher sem-teto que agitasse uma escova de cabelos na minha direção. Aquela era uma mulher que eu via ali todos os dias. – Que se chamava? Eles tinham perguntado a ela o nome da mulher muitas vezes. Eles sabiam que ela não sabia. Lorie olhou para a detetive, e ele pôde ver aquelas fracas veias azuis aparecendo sob os olhos. Ele queria passar o braço ao redor dela, fazê-la sentir que estava ali, acalmá-la. Mas antes que conseguisse fazer alguma coisa ela recomeçara a falar. – Sra. Lagarta – falou ela, lançando as mãos no ar. – Sra. Linguini. Madame Lafarge. A detetive a encarou sem dizer qualquer coisa. – Vamos tentar procurar por ela na internet – comentou Lorie, o queixo projetado para a frente e um tipo de brilho duro nos olhos. Todos os remédios e os horários irregulares que estavam mantendo, todos os comprimidos para dormir e sedativos, Lorie caminhando pela casa a noite inteira, sem falar nada coerente, mas com medo de ficar deitada quieta. – Lorie – disse ele. – Não... – Tudo sempre acontece comigo – falou ela, a voz de repente suave e estranhamente líquida, seu corpo afundando. – É muito injusto. Ele podia ver acontecendo, seus membros ficando flácidos, e foi na direção dela. Ela quase escorregou de suas mãos, os olhos revirando. – Ela está desmaiando – avisou ele, agarrando-a, os braços frios como canos de água congelados. – Chame alguém. A detetive estava observando.
– Não consigo falar porque ainda estou tentando lidar com isso – contou Lorie aos repórteres que esperavam em frente à delegacia policial. – É muito duro falar sobre isso. Ele ergueu um braço rígido e tentou fazer com que ela avançasse em meio à multidão tão apertada quanto o nó em sua garganta. – É verdade que estão contratando um advogado? – perguntou um dos repórteres. Lorie olhou para eles. Ele viu sua boca abrir e não teve tempo de impedi-la. – Eu não fiz nada errado – disse, um sorriso desalentado no rosto. Como se tivesse derrubado o carrinho de supermercado de alguém com o seu próprio. Ele olhou para ela. Sabia o que queria dizer – ela se referia a deixar Shelby por aquele instante, aquele pequeno instante. Mas também sabia como soava, e como parecia aquele sorriso apavorado que ela não conseguia impedir. Foi a única vez que ele deixou que falasse com os repórteres. Depois, em casa, ela se viu no noticiário noturno. Caminhou lentamente até a TV, se ajoelhou diante dela, o jeans deslizando no tapete, e fez a coisa mais estranha. Passou os braços ao redor dela, como se fosse um ursinho de pelúcia, uma criança. – Onde ela está? – sussurrou. – Onde ela está? E ele desejou que os repórteres pudessem ver aquilo, o modo confuso como a dor se instalara nela, como uma febre. Mas também ficou contente por não poderem.
* * *
Era o meio da noite, perto de amanhecer, e ela não estava ao seu lado. Procurou pela casa toda, o peito batendo forte. Pensou que devia estar sonhando, chamando seu nome, o nome das duas. Ele a encontrou no quintal, uma sombra graciosa no meio do quintal. Estava sentada na grama, o telefone iluminando o rosto. – Eu me sinto mais perto dela aqui fora – falou. – Encontrei isto. Ele mal conseguia ver, mas chegando mais perto viu um brinco minúsculo com uma borboleta esmaltada, seguro entre seus dedos. Haviam tido uma grande briga quando ela chegara em casa com Shelby, as orelhas furadas, grossos pinos de ouro se projetando de lóbulos tão pequenos. As orelhas vermelhas, o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrimas. – Para onde ela foi, querido? – perguntou Lorie. – Para onde ela foi? Ele estava encharcado de suor e tirava a camiseta do peito.
– Olhe, sr. Ferguson, o senhor cooperou plenamente conosco – informou o detetive. – Sei disso. Mas entenda a nossa posição. Ninguém consegue confirmar a história dela. A funcionária que viu sua esposa derramar o café se lembra dela saindo com Shelby. Não se lembra de outra mulher. – Quantas pessoas estavam lá? Vocês conversaram com todas elas? – Também há mais uma coisa, sr. Ferguson. – O quê? – Um dos outros empregados disse que Lorie estava realmente furiosa com o derramamento do café. Disse a Shelby que era culpa dela. Que tudo era culpa dela. E que Lorie agarrou sua filha pelo braço e a sacudiu.
– Isso não é verdade – alegou ele. Nunca vira Lorie tocar Shelby com rispidez. Algumas vezes mal parecia saber que a filha estava lá. – Sr. Ferguson, eu preciso lhe perguntar. Sua esposa tem um histórico de problemas emocionais? – Que tipo de pergunta é essa? – É uma pergunta padrão em casos como este – avisou o detetive. – E nós temos alguns relatos. – Está falando do noticiário local? – Não, sr. Ferguson. Não recolhemos evidências da TV. – Recolher evidências? Que tipo de evidência vocês precisariam recolher sobre Lorie? É Shelby quem está desaparecida. Vocês não... – Sr. Ferguson, sabia que sua esposa passou três horas no Your Place Lounge em Charlevoix na tarde de ontem? – Vocês a estão seguindo? – Vários clientes e um dos bartenders nos procuraram. Estavam preocupados. – Preocupados? É assim que eles estavam? – reagiu. Sua cabeça latejava. – Eles não deveriam estar preocupados, sr. Ferguson? Ela é uma mulher cujo bebê desapareceu. – Se eles estavam tão preocupados, por que não ligaram para mim? – Um deles perguntou a Lorie se poderia chamá-lo para pegá-la. Aparentemente ela respondeu que não. Ele olhou para o detetive. – Ela não queria me deixar preocupado. O detetive olhou de volta. – Certo. – Você não sabe como as pessoas irão agir quando algo assim acontece – argumentou ele, sentindo a cabeça cair. De repente, seus ombros pareceram muito pesados e surgiu em sua cabeça uma dessas imagens de Lorie, no canto mais distante do comprido bar preto laqueado, olhos com maquiagem pesada e repletos de pensamentos soturnos. Sentimentos que ele nunca poderia tocar. Nunca teve certeza de saber no que ela estava pensando. Aquilo era uma parte. Parte do latejar no peito, a ansiedade que nunca passava. – Não – falou ele de repente. – O quê? – perguntou o detetive, se inclinando para a frente. – Ela não tem um histórico de problemas emocionais. Minha esposa.
Era a quarta semana, a quarta semana de pistas falsas, choros, comprimidos para dormir e terrores noturnos. E ele tivera de voltar ao trabalho ou não conseguiriam pagar a hipoteca. Tinham conversado sobre Lorie retomar seu emprego de meio expediente na loja de velas, mas alguém precisava ficar em casa, esperando. (Mas eles esperavam o quê? Bebês apareciam de repente em casa após 27 dias? Era o que ele sabia que os policiais estavam pensando.) – Acho que vou ligar para o escritório amanhã – avisou ele. – E fazer um plano. – E eu vou ficar aqui. Você vai ficar lá e eu vou ficar aqui.
Era uma conversa horrível, como muitas das conversas que casais têm em quartos escuros, tarde da noite, quando você sabe que as decisões que passou o dia inteiro evitando não podiam mais esperar. Depois que conversaram, ela tomou quatro grandes comprimidos e enfiou o rosto no travesseiro. Ele não conseguiu dormir e foi ao quarto de Shelby, o que raramente fazia à noite. Curvou-se sobre o berço, que era pequeno demais para ela, mas Lorie ainda não queria usar a cama, disse que não era a hora, nem de longe. Colocou os dedos nos macios protetores de bebês, decorados com peixes amarelos brilhantes. Lembrou-se de contar a Shelby que eram peixinhos dourados, mas ela continuou dizendo “Nana, nana”, que era como ela falava “banana”. As mãos dela estavam sempre cobertas do visco perolado de banana, que grudava na frente da camisa de Lorie. Certa noite, deslizando a mão sob a presilha do sutiã de Lorie, entre os seios, ele encontrou um resto de banana até mesmo ali. – Está por toda parte – dissera Lorie, suspirando. – É como se eu fosse feita de banana. Ele adorava aquele cheiro, e as mãos sempre meladas da filha. Em algum momento, ao se lembrar daquilo, começou a chorar, mas então parou e se sentou na cadeira de balanço até adormecer.
Em parte ele estava aliviado por voltar ao trabalho, depois de todos aqueles dias com vizinhos, parentes e amigos enchendo a casa, trocando boatos de internet, organizando vigílias e buscas. Mas no momento havia menos parentes, apenas dois amigos que não tinham mais para onde ir, e nenhum vizinho. A mulher da casa da esquina apareceu tarde certa noite e pediu de volta sua panela de refogado. – Não sabia que ficariam com ela tanto tempo – disse, apertando os olhos. Parecia estar tentando olhar por sobre o ombro dele, para a sala de estar. Lorie assistia a um programa de televisão com som alto, sobre um grupo de louras com rostos pintados e bocas raivosas. Assistia o tempo todo; parecia ser o único programa na TV. – Não sabia como as coisas ficariam – continuou a mulher, pegando sua panela e a examinando.
“seu garoto sensual”, dizia a mensagem de Lorie. “eu quero suas mãos em mim. Vem para casa e cuida de mim, com força como vc gosta, acaba comigo.” Ele girou na cadeira da escrivaninha, quase como se precisasse esconder o telefone, esconder seu ato de ler a mensagem. Saiu do escritório imediatamente, dirigindo o mais rápido que conseguia. Dizendo a si mesmo que havia algo errado com ela. Que aquilo tinha de ser algum efeito colateral dos comprimidos que o médico tinha receitado, ou o modo como tristeza e saudade podiam ser distorcidas em seu corpinho complicado. Mas não era exatamente por isso que dirigia tão rápido, ou porque quase tropeçou no cinto de segurança pendurado ao sair apressado do carro. Ou porque sentiu, quando a viu deitada na cama, de barriga para baixo e com a cabeça virada, sorrindo, que iria se partir em dois se não a tivesse. Se não a tivesse ali. Então, a cama gemendo abaixo dos dois e ela não produzindo um som, mas, com as cortinas baixadas, seus dentes brancos reluzindo, reluzindo de sua boca aberta.
Pareceu errado, mas ele não sabia por quê. Ele a conhecia, mas não. Aquela era ela, mas uma Lorie de muito tempo antes. Só que diferente.
Os repórteres telefonavam o tempo todo. E havia dois que pareciam nunca sair do quarteirão. Estavam ali desde o início, mas pareciam ter ido embora, passado para outros casos. Voltaram quando começou a circular o vídeo de Lorie saindo do estúdio de tatuagem Magnum. Lorie usava novamente aquelas botas de caubói vermelhas, batom vermelho e caminhou diretamente para a câmera. Publicaram fotos disso no jornal com a manchete: “A dor de uma mãe?”
Ele olhou a tatuagem. As palavras Mirame quemar em cursiva, se enrolando em seu quadril. Cobria apenas o ponto onde havia uma estria, aquela que ela sempre escondia com os dedos quando ficava de pé nua diante dele. Ele olhou para a tatuagem no quarto escuro, uma faixa de luz vindo do corredor. Ela virou o quadril, continuou rodando, girando o tronco para que ele pudesse sentir, tudo. – Eu precisava disso – explicou ela. – Precisava de alguma coisa. Alguma coisa na qual colocar os dedos. Para me lembrar de mim mesma. Você gostou? – perguntou, seu hálito em sua orelha. A tinta parecia se mover. – Eu gosto – respondeu ele, colocando os dedos ali. Sentindo-se um pouco enjoado. Ele gostava. Gostava muito.
Depois, tarde da noite, a voz dela o despertou de um sono profundo. – Eu nunca soube que vinha, e de repente aqui estava ela – dizia, o rosto colado no travesseiro. – E eu nunca soube que ia embora, e agora ela sumiu. Ele olhou para ela, que estava de olhos fechados, sujos de maquiagem antiga. – Mas ela sempre fazia o que queria – concluiu ela, a voz mais áspera, dolorida. Foi o que ele pensou ter ouvido. Mas ela estava dormindo, e não fez sentido algum.
– Você gostou até pensar sobre ela – disse ela. – Até olhar com atenção, e então decidir que não queria mais. Ou não queria ser o cara que a quer. Estava vestindo a camisa nova que ela lhe comprara no dia anterior. Era um roxo bem escuro, bonita, e ele se sentiu bem nela, como o gerente de unidade sobre quem todas as mulheres do escritório conversavam. Falavam sobre os sapatos dele, e ele sempre se perguntou onde as pessoas compravam sapatos como aqueles. – Não – falou ele. – Eu adoro. Mas é só... Caro. Mas não era isso. Não parecia certo comprar coisas, comprar qualquer coisa naquele momento. Mas também era o quanto a camisa era colorida, o brilho dela. A beleza reluzente e dura dela. Uma camisa de sair, para ir a boates, para dançar. Para aquelas coisas que eles faziam quando ainda faziam coisas: vodca, música com batidas e sexo alucinado no carro dela. O tipo de sexo ébrio tão confuso e louco que você depois quase sentia vergonha do outro, indo para casa, lamentavelmente sóbrio, sentindo que tinha mostrado algo muito íntimo e muito ruim. Uma vez, anos atrás, ela fez com ele algo que ninguém nunca tinha feito, e ele depois nem conseguiu olhar para ela. Na vez seguinte, ele fez algo com ela. Por um tempo parecia que nunca iria parar.
“Acho que alguém deveria lhe contar sobre sua esposa”, dizia o assunto do email. Ele não reconheceu o endereço, uma série de letras e números, e não havia texto no corpo da mensagem. Havia apenas uma foto de uma garota dançando, usando uma camisa frente única verde brilhante, laços soltos e balançando. Era Lorie, e ele sabia que devia ser uma foto antiga. Semanas antes os jornais colocaram as mãos em alguns instantâneos de Lori do final da adolescência, dançando em tampos de mesa, beijando as amigas. Coisas que garotas faziam quando estavam bebendo e alguém tinha uma câmera. Naquelas fotos, Lorie estava sempre posando, sensual, tentando parecer uma modelo, uma celebridade. Era a Lorie antes que ele a conhecesse, uma Lorie do tempo que ela chamava de “seus antigos dias selvagens”. Mas naquela foto ela parecia não ter absolutamente nenhuma consciência da câmera, parecia estar perdida no embalo de qualquer que fosse a música tocando, quaisquer que fossem os sons em sua cabeça lotada. Os olhos estavam fechados com força, a cabeça jogada para trás, o pescoço comprido, marrom e bonito. Parecia mais feliz do que já tinha visto. Uma Lorie de muito tempo atrás, ou de nunca. Mas quando ele rolou mais a imagem viu a blusa subindo pelo corpo, viu a projeção do osso do quadril. Viu as elegantes letras cursivas: Mirame quemar.
Naquela noite ele se lembrou de uma história que ela lhe contara há muito tempo. Parecia impossível que tivesse esquecido. Ou talvez apenas parecesse diferente então, fazendo com que soasse algo novo. Algo descoberto, uma velha caixa amassada que você encontra no porão com um cheiro forte e tem medo de abrir. Foi quando estavam namorando, quando a colega de quarto dela estava sempre por perto e eles não conseguiam ficar sozinhos. Tinham sessões emocionantes no carro dele, e ela adorava passar para o banco de trás, erguendo a perna acima do apoio de cabeça e suplicando que ele fosse. Foi depois da primeira ou da segunda vez, quando era tudo tão maluco e confuso e sua cabeça latejava e explodia, que Lorie se aninhou nele e falou sem parar sobre sua vida e de quando roubara quatro lápis de olho Revlon da farmácia e como dormira com um animal de pelúcia de orelhas molhadas chamado Ears até os 12 anos. Disse que sentia poder lhe contar tudo. Em algum ponto daquelas noites confusas – noites em que também ele lhe contara coisas particulares, histórias sobre paixões por babás e furtar carrinhos Matchbox nas lojas –, ela lhe contou a história. Como, quando tinha 7 anos, seu irmãozinho pequeno nasceu e ela ficou com muito ciúme. – Minha mãe passava o tempo todo com ele, e me deixava sozinha o dia inteiro. Então eu o odiava. Rezava toda noite para que fosse levado embora. Para que alguma coisa medonha acontecesse com ele. À noite, eu me esgueirava até seu berço e o encarava através das pequenas grades. Acho que talvez acreditasse que poderia fazer acontecer. Se olhasse para ele tempo suficiente e duro o suficiente, poderia acontecer. Ele tinha anuído, porque as crianças eram assim, achava. Ele era o mais jovem e ficou pensando se sua irmã mais velha pensava coisas assim dele. Uma vez esmagou o dedo dele sob um prato musical e disse que havia sido um acidente. Mas ela não tinha acabado de contar sua história, chegou mais perto dele, que pode sentir o cheiro de seu corpo empoado e pensou em todos os seus pequenos cantos e curvas, em como gostava de encontrá-los com a mão, todos os lugares macios e quentes. Às vezes, parecia que o corpo dela nunca era o mesmo corpo, como se mudasse sob suas mãos. “Eu sou uma bruxa, uma bruxa.” – Então – disse, a voz baixa e furtiva –, certa noite, eu o estava observando através das grades do berço, e ele fazia um barulho engraçado. Os olhos dela cintilaram no escuro do carro. – Eu me estiquei, passando as mãos pelas grades – continuou, movendo as mãos na direção dele. – E foi quando vi um pedaço de barbante pendurado no queixo dele, de um brinquedo de puxar. Fiquei puxando. Ele a viu puxar o barbante imaginário, os olhos dela cada vez mais arregalados. – Então, ele arfou e começou a respirar novamente – contou. Ela parou, estalando a língua. – Minha mãe entrou nesse exato instante. Disse que eu salvei a vida dele – falou. – Todo mundo disse. Ela comprou para mim um macacão novo e os sapatos rosa-choque que eu queria. Todo mundo me adorou. Dois faróis passaram sobre os dois e ele viu seus olhos, iluminados e brilhantes. – Então, nunca ninguém soube da história. Nunca contei a ninguém. – Ela sorriu, se apertando sobre ele. – Mas agora estou contando a você. Agora tenho alguém a quem contar.
– Sr. Ferguson, o senhor nos disse, e seus registros telefônicos confirmam, que começou a ligar para sua esposa 17h50 no dia do desaparecimento de sua filha. Conseguiu falar com ela às 18h45. Está correto? – Não sei – falou ele, sendo aquela a oitava, nona, décima vez que o chamavam. – Vocês devem saber melhor que eu. – Sua esposa disse que estava na cafeteria por volta das cinco da tarde. Mas localizamos um registro da transação de sua esposa. Foi 15h45. – Não sei – retrucou, esfregando a nuca, a dormência ali. Ele se deu conta de que não tinha ideia do que iriam lhe dizer. Nenhuma ideia do que estava por vir. – Então, o que acha que sua esposa ficou fazendo durante três horas? – Procurando essa mulher. Tentando encontrá-la. – Ela fez algumas ligações nesse tempo. Não para a polícia, claro. Nem mesmo para o senhor. Ela deu um telefonema para um homem chamado Leonard Drake. Outro chamado Jason Patrini. Um parecia ser um antigo namorado – Lenny alguma coisa –, o outro ele nem conhecia. Ele sentiu algo vazio no corpo. Não sabia mais nem sobre quem estavam falando, mas não tinha nada a ver com ele. A detetive entrou, lançando um olhar para o parceiro. – Como estava dando todos esses telefonemas, conseguimos rastrear seus movimentos. Ela foi ao Harbor View Mall. – Gostaria de vê-la nas imagens da câmera de segurança de lá? – perguntou a detetive. – Estamos com elas agora. Sabia que comprou uma blusinha? Ele não sentiu nada. – Também foi ao mercado. O caixa acabou de identificá-la. Usou o banheiro e disse que ficou lá muito tempo e quando saiu tinha trocado de roupa. – Gostaria de ver as imagens de lá? Ela parece ótima. Ela deslizou uma foto granulada sobre a mesa. Uma jovem com blusinha e capuz baixo sobre a testa. Ela sorria. – Essa não é a Lorie – argumentou ele suavemente. Ela parecia jovem demais, parecia como era quando a conhecera, uma pequena beleza élfica com barriga lisa, rabo de cavalo e piercing no umbigo. Uma argola que ele costumava puxar. Esquecera-se disso. Ela devia ter deixado o furo fechar. – Estou certo de que é difícil ouvir isso, sr. Ferguson – disse o detetive. – Eu lamento. Ele ergueu os olhos. O detetive não parecia lamentar muito.
– O que disse a eles? – perguntou ele. Lorie estava sentada no carro com ele a meio quarteirão da delegacia. – Não sei se deveria dizer mais alguma coisa a eles. Acho que talvez devêssemos ligar para um advogado. Lorie estava olhando para a frente, para as luzes que piscavam no cruzamento. Levou as mãos lentamente às pontas do cabelo, penteando-o enquanto refletia. – Eu expliquei – disse ela, o rosto escuro a não ser por um tom de azul da placa da revendedora de veículos, como um girino subindo sua bochecha. – Eu contei a eles a verdade.
– Qual verdade? O carro parecia muito frio. Havia um cheiro emanando dela, de alguém que não tinha comido. Um cheiro cru de café e removedor de esmalte. – Eles não acreditam mais em nada que digo. Expliquei como tinha ido à cafeteria duas vezes naquele dia. Uma para comprar um suco para Shelby e depois para tomar um café. Disseram que iriam investigar, mas eu podia ver o que parecia para eles. Falei isso para eles. Sei o que pensam de mim. Ela se virou e o encarou, o carro acelerado, luzes vermelhas passando sobre seu rosto. Isso lembrou a ele de uma foto que vira uma vez na National Geographic, uma mulher do Amazonas, o rosto pintado de carmim, uma vareta de madeira atravessando o lábio. – Agora sei o que todos pensam de mim – completou ela, e desviou o rosto novamente.
Foi tarde naquela noite que ele perguntou, os olhos abertos. Ela estava caindo de sono. – Quem é Leonard Drake? Quem é Jason alguma coisa? Ela se mexeu, virou para encará-lo, o rosto pousado sobre o lençol. – Quem é Tom Ferguson? Quem é ele? – É o que você faz? – perguntou ele, elevando a voz. – Fica ligando para homens? Era mais fácil perguntar isso a ela do que perguntar outras coisas. Perguntar se tinha sacudido Shelby, se tinha mentido sobre tudo. Outras coisas. – Sim. Eu ligo para homens o dia inteiro. Vou para os apartamentos deles. Deixo minha filha no carro, especialmente se estiver muito quente. Eu me esgueiro pelas escadas dos apartamentos deles. Ela estava com a mão no peito, e a movia ali, observava-o. – Você devia sentir o quanto eu os desejo quando abrem suas portas. “Pare”, disse ele, sem dizer. – Estou com as mãos nos cintos deles antes que fechem a porta atrás de mim. Subo para seus colos em seus sofás sujos de solteirões e faço de tudo. Ele começou a balançar a cabeça, mas ela não parou. – Você tem um bebê e seu corpo muda. Você precisa de mais alguma coisa. Então, eu os deixo fazer qualquer coisa. Fiz de tudo. A mão dela estava se movendo, se tocando. Não conseguia parar. – É o que eu faço enquanto você está no trabalho. Não estava ligando para pessoas no Craigslist, tentando substituir seu cortador de grama. Não estava fazendo algo por você, sempre por você. Ele se esquecera do cortador de grama, esquecera que era o que dissera estar fazendo naquele dia. Tentando conseguir um de segunda mão depois que ele ficara com bolhas nas duas mãos depois de usar na última vez. Era o que havia dito que estava fazendo. – Não – continuou ela. – Estava ligando para homens, marcando encontros sexuais. É o que faço desde que tive um bebê e estou em casa. Não sei fazer mais nada. É impressionante que não tenha sido apanhada antes. Se pelo menos tivesse sido apanhada. Ele cobriu o rosto com a mão. – Eu lamento. Eu lamento. – Como você pode? – perguntou ela, um som estrangulado na garganta. Estava puxando o lençol inteiro para suas mãos, enrolando-o, tirando dele, torcendo. – Como você pode?
Ele sonhou com Shelby naquela noite. Sonhou que estava vagando pela escuridão azul da casa e quando chegou ao quarto de Shelby não havia quarto algum, e de repente estava do lado de fora. O quintal estava coberto de gelo e com aparência desolada, e ele sentiu uma repentina tristeza. De repente, sentiu ter caído no lugar mais solitário do mundo, e o velho barracão de ferramentas no meio pareceu de alguma forma o próprio centro dessa solidão. Quase o tinham derrubado ao comprar a casa – todos disseram que deveriam –, mas decidiram que gostavam dele: o “celeiro bebê”, como tinham chamado, com seu teto inclinado e tinta vermelha desbotada. Mas era pequeno demais para qualquer coisa que não alguns ancinhos e o cortador de grama mecânico com a roda esquerda tombada. Era a única coisa velha em sua casa, a única coisa que restava de antes que estivesse lá. De dia era uma coisa sobre a qual ele nunca mais pensava, não notava a não ser pelo cheiro que às vezes saía de lá depois de uma chuva. Mas no sonho parecia uma coisa viva, abandonada e lamentável. De repente lhe ocorreu que o cortador de grama no barracão ainda poderia ser consertado, e se pudesse tudo então ficaria bem, ninguém precisaria procurar cortadores de grama e a grossa camada de grama sob seus pés não pareceria tão pesada, e toda aquela solidão teria fim. Colocou a mão na maçaneta fria e torta do barracão e a abriu. Em vez do cortador de grama ele viu um pequeno saco preto no piso do barracão. Pensou consigo mesmo do modo como você faz nos sonhos: “Devo ter deixado a grama cortada aqui. Devia estar coberta de mofo e esse deve ser o cheiro tão forte que...” Ele agarrou o saco, que escorregou e abriu, e se desfez em suas mãos. Houve um som, a sensação de algo pesado caindo no piso do barracão. Estava escuro demais para ver o que escorria sobre seus pés, fazendo cócegas em seus tornozelos. Escuro demais, certamente, mas pareciam os fios doces dos cabelos de sua filha.
Ele já acordou se sentando. Uma voz sibilava em sua cabeça: “Vai olhar no barracão? Vai?” E foi quando se lembrou de que não havia mais barracão no quintal. Fora derrubado quando Lorie engravidara porque dizia que o cheiro de podre lhe dava dores de cabeça, deixava-a nauseada.
No dia seguinte, a primeira página no jornal mostrava uma série de matérias marcando os dois meses do desaparecimento de Shelby. Eles tinham a foto de Lorie abaixo da manchete: “O que ela sabe?” Havia uma foto dele, cabeça baixa, saindo da delegacia no dia anterior. A legenda dizia: “Mais perguntas sem respostas”. Não conseguiu ler nada, e, quando sua mãe telefonou, ele não atendeu. Durante o dia inteiro no trabalho não conseguiu se concentrar. Sentia todo mundo olhando para ele. Quando seu chefe foi à sua mesa, podia sentir o modo cuidadoso como falava com ele. – Tom, caso queira sair mais cedo, não tem problema – falou. Flagrou várias vezes a assistente administrativa olhando para seu protetor de tela, a foto de Lorie com Shelby aos dez meses com fantasia de Halloween, uma aranha preta com pernas de aranha macias.
Ele foi embora às três da tarde. Lorie não estava em casa, e ele tomava um copo de água junto à pia da cozinha quando a viu pela janela. Embora fizesse pouco mais de vinte graus, estava deitada numa das espreguiçadeiras de verão. Com fones de ouvido, vestindo um biquíni laranja brilhante com argolas douradas nas alças e dos dois lados dos quadris. Havia empurrado a casa de brinquedo roxa sobre a cerca dos fundos, onde estava inclinada sob o olmo. Ele nunca vira aquele biquíni antes, mas reconheceu os óculos de sol, grandes com armação branca que comprara numa viagem ao México que fizera com uma velha amiga pouco antes de engravidar. Reluzindo no centro de seu tronco brilhante estava um piercing de umbigo dourado. Ela sorria, cantando junto com a música que tocava em sua cabeça. Naquela noite, ele não conseguiu ir para cama. Passou horas vendo TV sem assistir a nada. Bebeu quatro cervejas seguidas, algo que não fazia desde os 20 anos. Então, a cerveja fez efeito, juntamente com o Benadryl que tomara depois, e ele se viu afundando em seu colchão. Em algum momento no meio da noite houve um movimento ao seu lado, o corpo dela endurecendo. Parecia que algo estava acontecendo. – Kirsten – murmurou ela. – O quê? O quê? De repente ela meio que se sentou, os cotovelos abaixo do corpo, olhando bem à frente. – O nome da filha dela era Kirsten – falou, a voz suave e insegura. – Acabei de me lembrar. Uma vez, quando estávamos conversando, ela disse que o nome da filha era Kirsten. Porque gostava de como parecia com Krusie. Ele sentiu algo afrouxar dentro de si, depois apertar novamente. O que era aquilo? – O sobrenome dela era Krusie com K – continuou ela, o rosto ficando mais animado, a voz mais ansiosa. – Não sei como se soletra, mas era com K. Não acredito que acabei de lembrar. Foi há muito tempo. Ela disse que gostava dos dois K, porque ela era dois K. Katie Krusie. Esse é o nome dela. Ele olhou para ela e não disse nada. – Katie Krusie – falou. – A mulher da cafeteria. Esse é o nome dela. Ele parecia não conseguir falar ou mesmo se mover. – Você vai ligar? – ela perguntou. – Para a polícia? Ele descobriu que não conseguia se mover. De algum modo estava com medo. Tanto medo que não conseguia respirar. Ela olhou para ele, fez uma pausa, depois esticou o braço por cima dele, pegando ela mesma o telefone. Enquanto falava com a polícia, contava a eles, sua voz clara e firme, o que acabara de lembrar, enquanto dizia que iria à delegacia, sairia em cinco minutos, ele a observou, a mão sobre o coração, sentindo-o bater tão forte que até doía.
* * *
– Acreditamos ter localizado a tal Krusie – disse a detetive. – Temos policiais indo para lá agora. Ela olhou para eles. Podia sentir Lorie ao seu lado, respirando com força. Menos de um dia se passara desde que Lorie telefonara. – O que está dizendo? – perguntou ele, ou tentou. Nenhuma palavra saiu.
Katie-Ann Krusie não tinha outros filhos, mas dizia às pessoas que tinha, o tempo todo. Após um longo histórico de problemas emocionais, ela passara um período de catorze meses no hospital estadual depois de um aborto espontâneo. Nas oito semanas anteriores ela tinha morado num imóvel alugado em Torring, 65 quilômetros de distância, com uma garotinha loura que chamava de Kirsten. Depois que a polícia divulgou uma foto de Katie-Ann Krusie no Alerta de Rapto de Criança, uma mulher que trabalhava numa rede de cafeterias em Torring a reconheceu como sendo uma cliente regular, sempre pedindo leite extra para seus bebês. – Certamente parecia amar seus filhos – dissera a mulher. – Só falar deles a deixava muito feliz.
Na primeira vez que ele viu Shelby novamente, não conseguiu dizer nada. Vestia uma camisa que ele nunca vira antes, sapatos que não combinavam e segurava uma caixa de suco que o policial lhe dera. Ela o observou enquanto ele disparava pelo corredor na sua direção.
Havia algo no rosto dela que nunca vira antes, sabia que não estava ali antes, e ele soube naquele instante que tinha de fazer tudo que pudesse para que desaparecesse. Era tudo o que faria, mesmo que levasse o resto da vida para conseguir.
Na manhã seguinte, depois de telefonar para todo mundo, um a um, ele entrou na cozinha e encontrou Lorie sentada ao lado de Shelby, que comia fatias de maçã, o mindinho curvado para cima como era seu hábito. Ele se sentou, olhou para ela, Shelby lhe perguntou por que estava tremendo e ele disse que era de alegria por vê-la. Foi difícil sair da cozinha, mesmo para atender à porta quando sua mãe e sua irmã chegaram, quando todos começaram a chegar. Três noites depois, no grande jantar de família, o jantar de boas-vindas para Shelby, Lorie bebeu muito vinho, e quem poderia culpá-la, todos diziam. Ele também não podia, e a observou. A noite avançava, sua mãe levou um bolo de sorvete para Shelby e todos se agruparam ao redor dela, que inicialmente parecia confusa e tímida, e aos poucos se transformou em algo bonito que o levou a querer chorar de novo – enquanto todas essas coisas aconteciam –, ele ficava de olho em Lorie, seu rosto silencioso e imóvel. No sorriso ali, que nunca crescia nem murchava, mesmo quando tinha Shelby no colo, a filha esfregando o nariz no pescoço afogueado de vinho da mãe. Em dado momento ele a encontrou de pé na cozinha, olhando para a pia, parecendo que olhava pelo ralo.
Era muito tarde, ou mesmo cedo, e Lorie não estava lá. Ele achou que ela tinha ficado enjoada com todo o vinho, mas também não estava no banheiro. Algo revirava nele, desconfortavelmente, enquanto entrava no quarto de Shelby. Ele viu as costas dela, nuas e brancas ao luar. A lingerie ameixa com a qual tinha dormido. Estava de pé perto do berço de Shelby, olhando para baixo. Ele sentiu algo se mexer em seu peito. Então, lentamente, ela ajoelhou, espiando pelas grades do berço, olhando para Shelby. Ela parecia estar esperando por algo. Ele passou um longo tempo de pé ali, a um metro e meio do umbral, observando-a observar seu bebê adormecido. Ele prestou atenção na respiração da filha, o começo e o fim. Ele não conseguia ver o rosto da esposa, apenas aquelas suas costas brancas compridas, as protuberâncias em sua coluna. Mirame quemar gravado em seu quadril. Ele observou a filha, e soube que nunca poderia sair daquele quarto. Que teria de ficar ali para sempre, de guarda. Não havia como voltar para a cama.
* * *
C
CECELIA HOLLAND
Cecelia Holland é uma das mais aclamadas e respeitadas escritoras de romance histórico do mundo, equiparada a outros gigantes do gênero, como Mary Renault e Larry McMurtry. Ao longo de três décadas de carreira, ela escreveu mais de trinta romances históricos, entre eles The Firedrake, Rakossy, Two Ravens, Ghost on the Steppe, Death of Attila, Hammer for Princes, The King’s Road, Pillar of the Sky, The Lords of Vaumartin, Pacific Street, The Sea Beggars, The Earl, The Kings in Winter, The Belt of Gold, The Serpent Dreamer, entre outros. Também escreveu o conhecido romance de ficção científica Floating Worlds, indicado para o Locus Award em 1975, e tem trabalhado numa série de romances de fantasia, entre os quais The Soul Thief, The Witches’ Kitchen, The Serpent Dreamer, Varanger e The King’s Witch. Seus livros mais recentes são os romances The High City, Kings of the North e The Secret Eleanor. No drama que se segue, ela nos apresenta à maior das famílias problemáticas, cujas impiedosas ambições em choque lançam a Inglaterra em repetidas guerras civis sangrentas por muitos anos: o rei Henrique II, sua rainha Eleanor da Aquitânia e seus oito filhos desordeiros. Todos cobras venenosas. Até mesmo a menor.
.
A CANÇÃO DE NORA
MONTMIRAIL, JANEIRO DE 1169 Nora olhou ao redor rapidamente, viu que ninguém estava vigiando e fugiu por entre as árvores, descendo a encosta até o pequeno riacho. Ela sabia que não haveria sapos para caçar; seu irmão lhe dissera que quando as árvores não tinham folhas, os riachos não tinham sapos. Mas a água cintilava ao passar sobre pedras brilhantes e ela viu uma trilha impressa na areia encharcada. Agachou-se para pegar uma pedrinha reluzente no riacho. Não ficaria bonita quando secasse. Atrás dela, sua irmãzinha Johanna deslizou apressada a encosta. – Nora! O que você tem aí? Ela mostrou a pedrinha à irmã e seguiu um pouco o curso d’água. Aquelas trilhas eram de pés de pássaros, como cruzes na areia molhada. Voltou a agachar para mexer nas pedras e então viu, na margem amarelada do riacho, como uma pequena passagem redonda, um buraco. Empurrou para o lado um véu de raízes peludas, tentando olhar dentro dele; será que alguma coisa morava ali? Ela poderia enfiar a mão para descobrir, e num pensamento rápido imaginou algo peludo, com dentes, se fechando em seu pulso, e escondeu o punho na saia. Uma voz chamou detrás das árvores. – Nora? Era sua nova babá. Ela não prestou atenção, procurando uma vareta para enfiar no buraco; Johanna, ao lado dela, soltou um “Ooooh” suave e, de quatro, se inclinou na direção da toca. Sua saia estava encharcada do riacho. – Nora! – chamou outra voz. Ela deu um pulo. – Richard – disse, e subiu a margem toda desajeitada, quase perdendo um sapato. Na beirada gramada ela recolocou o sapato, se virou e ajudou Johanna atrás dela, depois passou correndo pelas árvores nuas até a larga clareira. Seu irmão ia na sua direção em passos largos, sorrindo, os braços abertos, e ela correu até ele. Não o via desde o Natal, quando todos estiveram juntos pela última vez. Tinha 12 anos, muito mais velho que ela, quase um adulto. Ele a envolveu nos braços e a abraçou. Cheirava a cavalo. Johanna chegou entusiasmada e ele também a abraçou. As duas babás, os rostos vermelhos, bufavam atrás deles, segurando as saias com as mãos. Richard se empertigou, olhos azuis brilhando, e apontou para o outro lado do campo. – Estão vendo? De onde nossa mãe vem. Nora protegeu os olhos e observou o outro lado do amplo campo. No início, viu apenas as pessoas reunidas se movimentando e balançando nos limites do campo, mas depois um murmúrio chegou a eles e um rugido se elevou de todos os lados. Bem ao fundo um cavalo se levantou no campo e parou, e o cavaleiro ergueu uma mão em saudação. – Mamãe! – gritou Johanna, depois bateu palmas. Então, a multidão toda estava gritando e celebrando, e em seu cavalo cinzaescuro a mãe de Nora corria pela lateral na direção do palanque de madeira sob os plátanos, onde todos se sentariam. Parecia até que Nora iria explodir. – Hurra! Hurra, mamãe! – gritou Nora. Lá, junto ao palanque, doze homens a pé se adiantaram para receber a mulher a cavalo. Ela fez uma manobra entre eles, soltou as rédeas e desmontou. Subiu rapidamente à plataforma, onde duas cadeiras aguardavam, ficou lá de pé, ergueu o braço, se virando devagar de um lado ao outro para cumprimentar a multidão que aplaudia. Ficou empertigada como uma árvore, as saias se agitando ao redor dela. De repente, acima do tablado, seu estandarte drapejou como uma grande asa, a Águia da Aquitânia, e o ribombar de gritos ecoou. – Eleanor! Eleanor! Ela acenou para a multidão uma última vez, mas tinha visto os filhos correndo na sua direção, e todo o seu interesse se voltou para eles. Ela se curvou, estendendo os braços, e Richard pegou Johanna no colo e correu na direção do tablado. Nora subiu os degraus ao lado dele. Ao chegar, Richard colocou Johanna aos pés da mãe. As mãos da mãe pousaram neles. Nora enterrou o rosto nas saias da rainha. – Mamãe. – Ah – disse a mãe, se sentando, segurando Johanna um pouco distante de si; deslizou a mão livre pela cintura de Nora. – Ah, minhas queridas. Como senti falta de vocês. Ela beijou as duas diversas vezes. – Johanna, você está encharcada. Não pode ficar assim. Ela fez um gesto e a babá de Johanna apareceu correndo. A menina reclamou, mas foi levada dali. Ainda abraçando Nora, Eleanor se inclinou para frente e nivelou os olhos com os de Richard, se apoiando com os braços cruzados na beirada da plataforma diante de si. – Bem, meu filho, está animado? Ele se afastou da plataforma, se esticando, o rosto queimando, os cabelos claros emaranhados pelo vento. – Mãe. Mal posso esperar! Quando papai chega? Nora se apoiou na mãe. Ela também amava Richard, mas gostaria que sua mãe lhe desse mais atenção. Eleanor era bonita, embora fosse velha. Não usava touca, apenas uma pesada argola de ouro sobre seus cabelos castanhos avermelhados escorridos. Os cabelos de Nora pareciam antiga grama morta. Ela nunca seria bonita. O braço da rainha se apertou ao redor dela, mas ainda estava inclinada para a frente, na direção de Richard, concentrada nele. – Ele está vindo. Você deveria se preparar para a cerimônia – respondeu ela, tocando a mão na frente do casaco, levando-a à face. – Pelo menos penteie os cabelos. Ele se sacudiu para cima e para baixo, vívido.
– Mal posso esperar. Mal posso esperar. Eu vou ser Duque da Aquitânia! A rainha riu. Uma trombeta soou abaixo da colina. – Está vendo, vai começar. Vá pegar seu casaco – comentou, se virando e chamando um pajem. – Cuide de lorde Richard. Nora, agora... Ela fez Nora recuar um passo para poder olhá-la da cabeça aos pés. Seus lábios se curvaram para cima e os olhos brilharam. – O que você estava fazendo, rolando na grama? Agora é minha garota grande; precisa estar apresentável. – Mamãe... – começou Nora, que não queria ser uma garota grande. A ideia a fazia recordar que Mattie tinha partido, a verdadeira garota grande. Mas ela adorava ter a atenção da mãe, então procurou algo que pudesse dizer para continuar a conversa. – Isso significa que eu não posso mais brincar? Eleanor riu e voltou a abraçá-la. – Você sempre poderá brincar, minha menina. Apenas jogos diferentes. – Seus lábios roçaram a testa de Nora. Ela se deu conta de que tinha dito a coisa certa. E então Eleanor se virou. – Olhe, papai está vindo. Uma onda de excitação percorreu a multidão como o vento num campo seco, se transformou em rumor e explodiu numa celebração trovejante. Uma coluna de cavaleiros subia a colina. Nora se empertigou, batendo palmas, respirou fundo e prendeu a respiração. No centro dos cavaleiros vinha seu pai, sem coroa ou manto real, mas ainda assim parecia que tudo se curvava e fazia reverência a ele, como se ninguém mais tivesse importância. – Papai. – Sim – concordou Eleanor, em voz baixa. – O papai real. Ela soltou o braço de Nora e se sentou empertigada em sua cadeira. Nora recuou; se ficasse atrás deles, fora de vista, talvez se esquecessem dela, e então poderia permanecer. Richard também não fora embora, ela viu, instalando-se na frente do palanque real. Seu pai chegou e deslizou diretamente da sela para o tablado. Estava sorrindo, os olhos apertados, as roupas amassadas, barba e cabelos desmazelados. Para ela, parecia o rei da floresta, selvagem e feroz, envolto em folhas e cascas de árvore. Daquele lado do campo, dos dois lados do palanque, seus cavaleiros subiram em fila única, estribo a estribo, encarando os franceses do outro lado do campo. O rei se ergueu, dando uma rápida olhada naquela direção, depois baixou os olhos para Richard, que estava de pé, rígido e alto, diante dele. – Bem, garoto, pronto para partir uma lança aqui? – Ah, papai! – falou Richard, dando pulos. – Eu posso? O pai deu uma gargalhada, olhando para ele do alto do palanque. – Não até que possa pagar seu próprio resgate quando perder. Richard ficou cor-de-rosa, como uma menina. – Eu não vou perder! – Não, claro que não – brincou o rei, abanando a mão. – Ninguém nunca acha que irá perder, menino. Quando você for mais velho... – E voltou a sorrir com desdém, se virando. Nora mordeu o lábio. Era maldoso falar com Richard daquele jeito, e seu irmão murchou, chutou o chão e depois seguiu o pajem pelo campo. De repente, ele era de novo apenas um menino. Nora se agachou atrás da saia da mãe, esperando que o pai não a notasse. Ele se instalou na cadeira ao lado da rainha, esticou as pernas e pela primeira vez se virou para Eleanor. – Você parece impressionantemente bem. Fico surpreso que seus velhos ossos tenham conseguido vir desde Poitiers. – Eu não iria perder isto – respondeu ela. – E é uma cavalgada muito agradável. Eles não se tocaram, não trocaram beijos, e Nora sentiu uma pontada de preocupação. Sua babá chegou à beirada do tablado e Nora mergulhou mais fundo na sombra de Eleanor, que olhou longamente para o rei. Sua atenção se voltou para o peito. – Ovos no café da manhã? Ou isso foi o jantar da noite passada? Chocada, Nora esticou um pouco o pescoço para olhar para ele: as roupas estavam bagunçadas, mas ela não viu gema de ovo. O pai olhava feio para ela, o rosto distorcido de raiva. Não baixou os olhos para o casaco. – Que velha fresca é você. Nora passou a língua sobre o lábio inferior. Suas entranhas pareciam cheias de espinhos e farpas. A mão da mãe estava sobre a coxa, e Nora viu como alisava a saia repetidamente com dedos duros e ágeis em forma de garra. – Lady Nora, venha agora – pediu a babá. – Você não trouxe sua queridinha – ironizou a rainha. O rei se inclinou na sua direção ligeiramente, como se fosse pular sobre ela, talvez socá-la com o punho. – Ela tem medo de você. Não chegaria perto. Eleanor riu. Não sentia medo dele. Nora ficou pensando no que seria aquilo; não era sua mãe a queridinha do rei? Ela fingiu não ver a babá a chamando. – Nora, venha agora – repetiu a babá, mais alto. Isso chamou a atenção da sua mãe, que virou e viu Nora ali. – Vá embora, minha menina. Vá se aprontar – falou a mãe, a mão tocando de leve no ombro de Nora. – Faça o que foi mandado, por favor. Nora deslizou até o limite do tablado e partiu para ser vestida e arrumada. Sua antiga babá tinha partido com Mattie quando a irmã mais velha de Nora fora embora para se casar com o duque da Alemanha. Ela tinha então aquela nova babá, que não sabia escovar cabelos sem machucar. Elas já tinham colocado Johanna num vestido limpo e trançado seus cabelos, e os outros estavam esperando do lado de fora da pequena barraca. Nora continuava a pensar em Mattie, que lhe contava histórias e cantava para ela quando tinha pesadelos. Todos estavam indo para a cerimônia no campo, seus irmãos primeiro, depois ela e Johanna. Johanna colocou a mão na de Nora, que apertou os dedos com força. Todas aquelas pessoas a faziam se sentir pequena. No meio do campo todo mundo estava de pé em filas, como na igreja, e as pessoas comuns estavam reunidas ao redor para ouvir o que acontecia. Estandartes pendiam dos dois lados, com um arauto à frente vendo as crianças se aproximar, sua comprida trombeta brilhante abaixada. Seu pai e sua mãe estavam sentados em grandes cadeiras bem no meio, e ao lado um homem pálido de aparência cansada com um manto de veludo azul. Tinha um pequeno tamborete para os pés. Ela sabia que era o rei da França. Ela, sua irmã e seus irmãos se colocaram diante deles, lado a lado, e o arauto anunciou seus nomes e, ao mesmo tempo, eles se curvaram, primeiramente aos seus pais e depois ao rei francês. Só havia cinco deles então, com Mattie tendo partido e seu irmão bebê ainda no mosteiro. Henry era o mais velho. Eles o chamavam de Menino Henry porque o nome de papai também era Henry. Depois vinha Richard, a seguir Geoffrey. Mattie estaria entre Menino Henry e Richard. Depois de Geoffrey vinha Nora, e Johanna, e com os monges, o bebê John. A multidão gritou para eles, e Richard de repente ergueu o braço acima da cabeça como uma resposta. Depois todos foram conduzidos para a multidão atrás dos pais, onde ficaram novamente em fila. Os arautos estavam berrando em latim. Johanna se apoiou na lateral do corpo de Nora. – Estou com fome. Dois passos à frente deles, em sua cadeira, Eleanor olhou por cima do ombro e Nora sussurrou: – Shhh. Todas as pessoas atrás deles eram homens, mas atrás do rei da França estava de pé uma menina que parecia um pouco mais velha que ela, e naquele momento Nora a flagrou olhando para trás. Nora sorriu, incerta, mas a outra menina apenas baixou os olhos. Um toque da trombeta a levantou do chão. Johanna agarrou sua mão. Um dos homens de papai subiu e começou a ler de um pergaminho, em latim, mais simples que o latim que os monges tinham ensinado a ela. O que ele lia era tudo sobre Menino Henry, quão nobre, quão bom ele era e, a um sinal, seu irmão mais velho se colocou diante dos dois reis e da rainha. Era alto e magro, com muitas sardas, o rosto queimado de sol. Nora gostou do verde-escuro do casaco que ele vestia. Ele se ajoelhou diante do pai e do rei francês, o arauto falou e os reis falaram. Estavam fazendo de Menino Henry também um rei. Ele seria então rei da Inglaterra, como papai era. De repente, imaginou os dois Henry tentando se enfiar numa cadeira, com uma coroa enrolada em suas cabeças, e riu. Sua mãe olhou novamente por cima do ombro, os olhos apertados e as sobrancelhas escuras franzidas. Johanna estava balançando de um pé para o outro. Repetiu, mais alto que antes: – Estou com fome. – Shhhh! Menino Henry se levantou da posição ajoelhada, se curvou e voltou para junto das crianças. O arauto disse o nome de Richard e ele saltou para a frente. Eles o estavam proclamando duque da Aquitânia. Iria se casar com a filha do rei francês, Alais. Os olhos de Nora se voltaram novamente para a garota estranha entre os franceses. Aquela era Alais. Tinha cabelos castanhos compridos e um narizinho fino; olhava com atenção para Richard. Nora ficou pensando em como seria olhar pela primeira vez para o homem com quem você sabia que iria se casar. Imaginou Alais beijando Richard e fez uma careta. Diante dela, sentada rígida em sua cadeira, a rainha baixou os cantos da boca. A mãe dela também não gostava daquilo. Até que fosse velha o bastante para desposar Richard, Alais iria morar com eles. Nora sentiu uma pontada de desconforto; ali estava Alais indo para um lugar estranho, assim como Mattie tinha ido para um lugar estranho, e nunca a veriam novamente. Lembrou como Mattie tinha chorado quando lhe contaram. Mas mamãe, ele é tão velho. Nora apertou os lábios, os olhos ardendo. Não com ela. Isso não iria acontecer com ela. Ela não seria mandada embora. Dada. Ela queria algo mais, mas não sabia o quê. Tinha pensado em ser freira, mas havia muito pouco a fazer. Richard ajoelhou, colocou suas mãos entre as compridas mãos ossudas do rei da França, e se levantou, a cabeça inclinada para a frente como se já usasse uma coroa. Tinha um sorriso grande como o sol. Voltou para junto da família e o arauto chamou o nome de Geoffrey, que seria então duque da Bretanha e se casaria com alguma outra estrangeira. Nora encolheu os ombros. Essa glória nunca seria dela, ela não teria nada, só ficaria de lado assistindo. Deu outra espiada na princesa Alais e a viu de olhos baixos na direção das mãos, triste. Johanna bocejou, soltou a mão de Nora e se sentou. Então, surgiu diante deles outra pessoa, mãos largas e uma voz forte e alta. – Meu senhor da Inglaterra, como combinado, peço-lhe agora que receba o arcebispo de Cantuária e que sua amizade seja restaurada, encerrada a contenda entre ambos, pelo bem de nossos dois reinos e da Santa Madre Igreja. A multidão ao redor deles deu um grito repentino e um homem saiu dos campos na direção dos reis. Vestia um comprido manto preto sobre um hábito branco com uma cruz pendurada no peito. O bastão em sua mão tinha a extremidade em espiral. Um longo grito de animação se alteou ao redor deles. Atrás dela alguém murmurou: – Becket novamente. O homem não vai embora. Ela conhecia aquele nome, mas não conseguia lembrar quem Becket era. Ele caminhou na direção deles, um sujeito comprido e magro, de roupas gastas. Parecia um homem comum, mas caminhava como um lorde. Todos o observavam. Enquanto subia na direção do pai dela o rumor e a agitação da multidão reduziram para um zumbido sem fôlego. Diante do rei, o homem magro se ajoelhou, o bastão baixo, depois se deitou no chão, espalhando-se como um tapete no piso. Nora mudou de posição para poder vê-lo pelo espaço entre seus pais. A multidão se aproximou, curvando-se para ver. – Meu misericordioso senhor – disse ele com um tom litúrgico. – Suplico seu perdão por todos os meus erros. Nunca um príncipe foi mais fiel que o senhor e nunca um súdito mais ímpio que eu, e venho pedir perdão não com esperança em minha virtude, mas na sua. Seu pai se levantou. Parecia muito feliz, o rosto corado, os olhos brilhantes. Com o rosto voltado para o chão o homem magro falou, humilde, suplicante, e o rei se abaixou na sua direção, estendendo as mãos para levantá-lo. – Eu me submeto ao senhor, a partir de agora e para sempre, em todas as coisas, salvo na honra a Deus – concluiu Becket. A cabeça da rainha se ergueu de repente. Atrás de Nora alguém engasgou, e outro alguém murmurou: – Maldito idiota. Diante de todos, a meio caminho de Becket, as mãos estendidas, papai parou. Uma espécie de tensão percorreu a multidão. O rei disse secamente: – O que é isto? Becket estava se levantando. Terra sujava seu manto no ponto em que seus joelhos foram pressionados contra o chão. Ele se empertigou, a cabeça para trás. – Não posso abrir mão dos direitos de Deus, meu senhor, mas em tudo mais... Seu pai se lançou sobre ele. – Isto não foi o que acordamos. Becket manteve sua posição, alto como uma torre, como se tivesse Deus nos ombros, e proclamou novamente: – Eu devo defender a honra do Senhor do céu e da terra. – Eu sou seu senhor! O rei não estava mais feliz. Sua voz ecoou pelo campo. Ninguém mais se moveu ou falou. Ele deu um passo na direção de Becket, e cerrou o punho. – O reino é meu. Nenhuma outra autoridade mandará aqui! Deus ou não, ajoelhe-se, Thomas, entregue-se a mim ou vá embora como um homem arruinado! Louis estava recuando do palanque na direção deles, seu murmúrio frenético ignorado. Becket permaneceu imóvel. – Eu sou consagrado a Deus. Não posso eliminar esse dever. O pai de Nora rugiu. – Eu sou rei, e nenhum outro, seu repulsivo, idiota, nenhum outro que não eu! Você deve tudo a mim! A mim! – Papai! Meu senhor... Menino Henry começou a se adiantar, sua mãe estendeu a mão, agarrou seu braço e o deteve. Outras vozes se altearam da multidão. Nora se curvou e tentou fazer Johanna se levantar. – Eu não serei desrespeitado! Honre a mim, e apenas a mim! A voz de seu pai era como uma trombeta, e a multidão ficou quieta novamente. O rei da França colocou a mão no braço do pai de Nora e murmurou algo, o pai se virou e afastou a mão. – Daqui para frente qualquer coisa que ele escolha não obedecer chamará de Honra a Deus. Vocês precisam ver isto! Ele não abriu mão de nada, não me prestará respeito; nem mesmo o respeito de um porco pelo cuidador! A multidão deu um grito. Uma voz proclamou: – Deus abençoe o rei! Nora olhou ao redor, desconfortável. As pessoas atrás dela estavam se agitando, recuando, como que se afastando lentamente. Eleanor ainda segurava Menino Henry, que gemia em voz baixa. Richard estava rígido, o corpo inteiro inclinado para a frente, o maxilar projetado como o de um peixe. O rei francês segurava Becket pela manga e o afastava, falando com urgência ao seu ouvido.
O olhar de Becket nunca desviou do pai de Nora. Sua voz soou como a trombeta do arcanjo. – Eu estou ligado à Honra a Deus! No meio de todos eles, o pai de Nora lançou os braços para cima como se fosse decolar; bateu os pés como se fosse partir a terra e gritou: – Tirem-no daqui antes que eu o mate! A Honra a Deus! O traseiro redondo e branco de Deus. Levem-no embora, sumam com ele! Sua fúria espantou a multidão. Numa repentina agitação de pés, o rei francês, seus guardas e a comitiva levaram Thomas embora. O pai de Nora rugia juramentos e ameaças, agitando os braços, o rosto vermelho como carne crua. Menino Henry se soltou do aperto da mãe e investiu sobre ele. – Meu senhor... O rei se virou para ele, braço esticado, e o derrubou com as costas da mão. – Fique fora disto! Nora deu um pulo. Antes mesmo que Richard e Geoffrey se adiantassem, Eleanor já se movia; alcançou Menino Henry em alguns passos e, quando se colocou de pé, o levou embora. Um grupo de sua comitiva partiu atrás. Nora manteve posição. Ela se deu conta de que prendia a respiração. Johanna se levantara e passara os braços ao redor da cintura de Nora, que colocou os braços ao redor da irmã. Geoffrey estava correndo atrás da rainha; Richard ficou parado, mãos caídas ao lado do corpo, vendo o rei explodir. Deu meia-volta e correu atrás da mãe. Nora engasgou. Ela e Johanna estavam sozinhas, no meio do campo, a multidão distante. O rei as viu. Ficou quieto. Olhou ao redor, não viu mais ninguém e foi até elas em passos largos. – Vão embora... Corram! Todos os outros estão me abandonando. Corram! São idiotas? Johanna se encolheu atrás de Nora, que ficou imóvel e levou as mãos às costas, do modo como ficava quando os padres falavam com ela. – Não, papai. O rosto dele continuava vermelho. Um leve suor sobre sua testa. Seu hálito quase a fez vomitar. Ele olhou para ela. – Então está aqui para me censurar, como sua mãe podre? – Não, papai – respondeu ela, surpresa. – O senhor é o rei. Ele teve um espasmo. A cor forte deixou seu rosto como uma maré. Sua voz ficou mais suave, mais devagar. – Bem, pelo menos um de vocês é sincero. Ele se virou e foi embora, e enquanto seguia ergueu um braço. Seus homens apareceram correndo de todos os lados. Um levava seu grande cavalo preto, e ele o montou. Acima de todos os homens a pé que o cercavam, ele deixou o campo. Depois que partiu, Richard subiu trotando pela grama para pegar Nora e Johanna. – Por que não posso... – Porque a conheço – disse Richard. – Se deixar você aqui, vai se meter em problemas. Ele a colocou na carroça, onde já estavam sentadas Johanna e a garota francesa. Nora se jogou lá com raiva; só iriam subir a coluna. Ele poderia ter deixado que montasse em seu cavalo. Com um estalar do chicote a carroça começou a andar, e ela recostou na lateral e olhou à distância. Ao lado de Nora, Alais de repente disse em francês: – Eu sei quem você é. Nora a encarou, assustada. – Eu também sei quem você é – falou. – Seu nome é Eleonora e você é a segunda irmã. Eu falo francês e latim e sei ler. Você sabe ler? – Sim. Eles me obrigam a ler o tempo todo – respondeu Nora. Alais espiou por sobre o ombro; seus acompanhantes caminhavam atrás da carroça, mas ninguém estava perto para ouvir. Johanna estava de pé no canto dos fundos, jogando pedaços de palha pela lateral e se inclinando para ver onde caíam. Alais disse em voz baixa: – Deveríamos ser amigas, porque vamos ser irmãs e somos quase da mesma idade – falou, o olhar sério passando sobre Nora da cabeça aos pés, o que a deixou desconfortável; ela se remexeu. Pensou brevemente, com raiva daquela garota tomando o lugar de Mattie. – Eu serei gentil com você se for gentil comigo – continuou Alais. – Tudo bem, eu... – começou Nora. – Mas eu vou primeiro, acho, porque sou mais velha. Nora enrijeceu e depois deu um pulo quando começou uma gritaria ao redor. A carroça estava subindo a rua que levava ao castelo na encosta, e ao longo do caminho multidões gritavam e chamavam. Não por ela, não por Alais; era o nome de Richard que gritavam, repetidamente. Richard cavalgava à frente delas, cabeça descoberta, não prestando atenção às saudações. Alais se virou para ela. – Onde você mora? Nora respondeu: – Bem, às vezes em Poitiers, mas... – Meu pai diz que seu pai tem tudo, dinheiro, joias, sedas e luz do sol, mas tudo o que temos na França é devoção e gentileza. – Nós somos gentis – começou Nora. Mas estava contente por Alais ver como seu pai era grande. – E também devotos. O rostinho anguloso da princesa francesa se virou para o outro lado, triste, e pela primeira vez sua voz era insegura. – Espero que sim. O coração de Nora acelerou, vacilante de simpatia. Johanna estava procurando no piso da carroça mais coisas para jogar, e Nora achou um pequeno punhado de pedrinhas no canto e deu a ela. Do outro lado, Alais olhava para as mãos, seus ombros estavam caídos, e Nora ficou pensando se ela estaria prestes a chorar. Ela poderia chorar se aquilo lhe acontecesse. Ela chegou mais perto, até encostar na outra garota. Alais ergueu a cabeça de repente, olhos arregalados, assustada. Nora sorriu, e as mãos das duas se aproximaram e se enlaçaram. Eles não subiram tudo até o castelo. A multidão alegre os acompanhou ao longo da rua e até uma calçada, com uma igreja de um dos lados. A carroça se virando para a direção oposta desceu outra rua e passou por um portão de madeira. Acima deles erguia-se então uma casa com paredes de madeira, duas fileiras de janelas e um teto pesado se projetando. A carroça parou ali e todos saltaram. Richard as conduziu pela larga porta da frente. – Mamãe está lá em cima – avisou ele. Chegaram num saguão escuro, cheio de serviçais e bagagem. Uma serviçal levou Alais embora. Nora subiu os altos degraus irregulares puxando Johanna pela mão. Johanna ainda estava com fome e disse isso a cada passo. No alto da escada havia um quarto de um lado e outro no oposto, e Nora ouviu a voz da mãe. – Ainda não – dizia a rainha. Nora entrou no quarto grande e viu a mãe e Menino Henry no canto mais distante; a rainha tinha uma das mãos no braço dele. – Ainda não é o momento. Não se precipite. Precisamos parecer leais. A mãe viu as garotas e um sorriso cobriu seu rosto como uma máscara. – Venham, meninas! – falou, mas a mão no braço de Menino Henry o empurrou para longe. Ela disse a ele: – Vá. Ele mandará buscar você; melhor que não esteja aqui. Leve Geoffrey com você. Menino Henry deu meia-volta e saiu. Nora ficou pensando no ela queria dizer com “se precipitar”; imaginou um precipício e pessoas caindo. Foi até a mãe e Eleanor a abraçou. – Eu lamento – disse sua mãe. – Lamento pelo seu pai. – Mamãe. – Não fique com medo dele – pediu a rainha, tomando as mãos de Johanna e falando para ambas. – Eu protegerei vocês. – Eu não estou... O olhar da mãe desviou, para acima da cabeça de Nora. – O que é? – O rei quer me ver – informou Richard atrás de Nora. Ela sentiu a mão dele pousar em seu ombro. – Apenas você? – Não, Menino Henry e Geoffrey também. Onde eles estão? A mãe de Nora deu de ombros, seu corpo inteiro se movendo, ombros, cabeça, mãos. – Não tenho ideia. Mas você deveria ir. – Sim, mamãe – respondeu Richard, apertando o ombro de Nora, e depois saindo. – Muito bem – disse Eleanor, ainda segurando Johanna pela mão. – Agora, minhas meninas. Nora franziu o cenho, intrigada; sua mãe sabia onde os outros irmãos estavam, acabara de mandá-los embora. A rainha se virou para ela novamente. – Não tenha medo. – Mamãe, não estou com medo. Mas então pensou, de algum modo, que sua mãe queria que estivesse.
Johanna já estava dormindo, aninhada nas costas de Nora, que apoiava a cabeça no braço, sem sono algum. Estava pensando no dia, em seu pai esplêndido e sua bela mãe, em como sua família mandava em tudo e ela era um deles. Ela se imaginou num grande cavalo, galopando, e todos gritando seu nome. Carregando uma lança com um estandarte na ponta e lutando pela glória de algo. Ou para salvar alguém. Algo orgulhoso, mas virtuoso. Ela se viu balançando para a frente e para trás em seu cavalo imaginário. Uma vela no canto oposto lançava uma espécie de crepúsculo no comprido quarto estreito; ela podia ver as tábuas da parede do outro lado e ouvir o ronco pesado da mulher dormindo junto à porta. Os outros empregados tinham descido para o saguão. Ficou pensando no que acontecia lá que todos queriam ir. Então, para sua surpresa, alguém passou apressado pela escuridão e se ajoelhou junto à sua cama. – Nora? Era Alais. Nora se ergueu, assustada, enquanto Alais deslizava para a cama. – Por favor, me deixe ficar aí. Por favor, Nora. Eles me obrigaram a dormir sozinha. Ela não podia se mover para abrir espaço por causa de Johanna, mas disse mesmo assim: – Tudo bem. Ela também não gostava de dormir sozinha: às vezes ficava frio, e era solitário. Ela puxou a coberta para trás, e Alais se enfiou no espaço ao lado dela. – Este é um lugar feio. Achei que todos vocês moravam em lugares bonitos. – Não moramos aqui – disse Nora. Ela empurrou Johanna e, sem despertar, sua irmãzinha murmurou e se afastou, dando mais espaço, mas Alais ainda estava colada nela. Podia sentir o hálito da garota francesa, de carne e azedo. Rígida, ela ficou deitada ali, desperta. Nunca iria adormecer. Alais pressionou o colchão; as cordas abaixo rangeram. – Você já tem peitinhos? – sussurou Alais. Nora se agitou. – O quê? Ela não sabia o que Alais queria dizer. – Mamas, boba – explicou Alais, se mexendo, puxando as cobertas e batendo nela. – Seios. Como estes. A mão dela pegou o pulso de Nora e puxou, esfregando sua mão no próprio peito. Por um instante, Nora sentiu uma elevação macia sob os dedos. – Não – respondeu, tentando tirar a mão do aperto de Alais, mas ela a prendeu firme. – Você é só um bebê. Nora soltou a mão e se agitou ferozmente contra Johanna, tentando conseguir mais espaço. – Eu sou uma garota crescida! – reagiu. Johanna era o bebê. Ela lutou para recuperar a sensação de galopar no grande cavalo, a glória, o orgulho e a grandeza. – Um dia, eu serei rei. Alais fez um som de deboche.
– Garotas não são reis, boba! Garotas são apenas mulheres. – Eu quis dizer como minha mãe. Minha mãe é tão elevada quanto um rei. – Sua mãe é indecente. Nora a empurrou, com raiva. – Minha mãe não é... – Shhh. Você vai acordar todo mundo. Desculpe. Desculpe. É só que todo mundo diz isso. Não falei por mal. Você não é um bebê – disse Alais, tocando-a. – Você ainda é minha amiga? Nora achou que a coisa toda de ser amiga era mais difícil do que ela tinha esperado. Discretamente, pressionou a palma da mão sobre o próprio peito ossudo. Alais se aninhou nela. – Se vamos ser amigas temos de ficar juntas. Para onde iremos depois? Nora puxou a coberta sobre si, a espessura do tecido entre ela e Alais. – Espero que para Poitiers, com mamãe. Espero ir para lá, a corte mais feliz do mundo inteiro – falou, e depois intempestivamente: – Qualquer lugar seria melhor que Fontrevault. Meus joelhos estão muito doloridos. Alais riu. – Um convento? Eles me colocaram em conventos. Até me obrigaram a usar roupas de freira. – Ah, eu odeio isso! Elas coçam muito – disse Nora. – E cheiram mal. – Freiras cheiram mal – completou Nora, depois se lembrou de algo que a mãe tinha dito. – Como ovos velhos. Alais riu. – Você é engraçada, Nora. Eu gosto muito de você. – Bem, você vai ter que gostar da minha mãe também se quiser ir para Poitiers. Novamente a mão de Alais subiu e tocou Nora, acariciando-a. – Vou gostar. Prometo. Nora apoiou a cabeça no braço, contente e com sono. Talvez Alais não fosse tão ruim, afinal. Ela era uma donzela desamparada, e Nora podia defendê-la, como um cavaleiro de verdade. Suas pálpebras se fecharam e, por um instante, antes de adormecer, ela sentiu o cavalo abaixo dela novamente, galopando.
Nora tinha guardado migalhas de pão do café da manhã e as espalhava no parapeito da janela quando a babá chamou. Continuou espalhando. Os passarinhos sentiam fome no inverno. A babá a agarrou pelo braço e a levou dali. – Venha quando eu a chamar! – ordenou a babá, enfiando rispidamente um vestido nela. Nora lutou para passar pelo volume de pano até que a cabeça saiu. – Agora sente-se para que eu possa escovar seus cabelos. Nora sentou; olhou novamente para a janela, e a babá beliscou seu braço. – Fica parada. Ela mordeu os lábios, com raiva e triste. Quis que a babá fosse embora para a Alemanha. Encolhida no banco, tentou ver a janela pelo canto do olho.
A escova se arrastou por seus cabelos. – Como você consegue deixar seus cabelos tão emaranhados? – Aaaai! – soltou Nora, se afastando do puxão da escova, e a babá a colocou de volta no banco. – Sente-se! Esta criança é o diabo – falou, a escova batendo com força no ombro. – Espere só até a levarmos de volta para o convento, pequeno demônio. Nora ficou rígida. No banco ao lado, Alais de repente se virou para ela, olhos arregalados. Nora deslizou para fora do banco. – Vou encontrar minha mãe! – gritou, indo na direção da porta. A babá tentou pegá-la, mas ela saiu do alcance e se moveu mais rápido. – Volte aqui! – Eu vou encontrar minha mãe – repetiu Nora, em seguida olhou feio para a babá e abriu a porta. – Espere por mim – pediu Alais. As mulheres foram atrás delas. Nora desceu as escadas apressada, fora de alcance. Esperava que a mãe estivesse no saguão. Nas escadas, desviou-se de empregados que vinham de baixo e eles ficaram no caminho das babás, detendoas. Alais estava logo atrás, olhos assombrados. – Está tudo bem? Nora? – Venha. Felizmente ela viu que o saguão estava cheio de gente; isso significava que a mãe estava lá. Ela passou por homens em mantos formais, esperando de pé, e se enfiou entre eles até chegar à frente. Lá estava sentada a mãe, com Richard de pé ao lado; a rainha lia uma carta. Um homem estranho estava de pé diante dela, humilde, as mãos trançadas. Nora passou por ele. – Mamãe. Eleanor levantou a cabeça, sobrancelhas erguidas. – O que está fazendo aqui? – perguntou, depois olhou para a multidão além de Nora e Alais, voltou a encarar Nora e disse: – Sente-se e espere; estou ocupada. Ela voltou a ler a carta em sua mão. Richard lançou um rápido sorriso alegre para Nora. Ela passou por ele, se colocando atrás da cadeira da mãe, e se virou para a sala. As babás passavam pela multidão de cortesãos, mas naquele momento as meninas estavam fora de alcance. Alais se apoiou nela, pálida, piscando os olhos. Na frente delas, de costas, em sua cadeira pesada, Eleanor colocou a carta de lado. – Vou pensar nisto. – Sua graça – disse o homem humilde, se curvando e recuando. Outro, de casaco vermelho, se adiantou, uma carta na mão. Ao pegá-la a rainha lançou um olhar para Richard a seu lado. – Por que seu pai queria vê-lo noite passada? – O que você vai fazer? – sussurrou Alais. Nora deu uma cotovelada nela; queria escutar o irmão. – Ele me perguntou onde estava Menino Henry – respondeu Richard, deslocando o peso de um pé para o outro. – Ele estava bêbado.
A rainha lia a nova carta. Virou-se para a mesa do outro lado, pegou uma pena e a molhou no pote de tinta. – Você também deveria assinar isto, já que agora é duque. Com isso Richard encheu o peito, parecendo maior, e esticou os ombros. A rainha se virou para Nora. – O que é agora? – Mamãe – falou Nora, chegando mais perto da rainha. – Para onde vamos? Depois daqui? Os olhos verdes da mãe a fitaram; um pequeno sorriso curvou seus lábios. – Bem, para Poitiers, creio. – Eu quero ir para Poitiers. – Bem, é claro – falou sua mãe. – E Alais também? Os olhos da rainha passaram para Alais, junto à parede. O sorriso murchou. – Sim, claro. Bom dia, princesa Alais. – Bom dia, sua graça – cumprimentou Alais, fazendo uma pequena mesura. – Obrigada, sua graça. Ela lançou um olhar brilhante para Nora, que fez uma expressão de triunfo. Nora olhou para a mãe, contente com ela, que podia fazer qualquer coisa. – Você prometeu que nos protegeria, lembra? – perguntou Nora. O sorriso da rainha aumentou e a cabeça dela se inclinou um pouco para um lado. – Sim, claro que lembro. Eu sou sua mãe. – E vai proteger Alais também? E então o sorriso da rainha se abriu novamente. – Nora, você será terrível quando crescer. Sim, Alais também, claro. Do outro lado da cadeira, Richard se empertigou depois de escrever, Eleanor tomou a carta dele e também a pena. Nora ficou onde estava, no meio de tudo, querendo que sua mãe a notasse novamente. – Se eu sou mesmo duque, posso dar ordens? – perguntou Richard. O sorriso da rainha voltou aos lábios, e ela olhou para ele de um modo como não olhava para mais ninguém. – Claro. Já que agora você é duque. Ela pareceu prestes a rir novamente; Nora ficou se perguntando o que a mãe achava engraçado. Eleanor pousou a carta na mesa e a pena se agitou sobre ela. – Eu quero ser feito cavaleiro – disse o irmão. – E quero uma espada nova. – Como quiser, sua graça – respondeu a mãe, ainda com aquele risinho na voz, e anuiu lentamente para ele, como numa mesura. Devolveu a carta ao homem de casaco vermelho. – Pode começar com isso imediatamente. – Deus a abençoe, sua graça. Obrigado. O homem balançou para cima e para baixo como um pato. Mais alguém estava se adiantando, outro papel na mão. Nora balançou na ponta dos pés, não querendo ir embora; as babás ainda estavam esperando. De pé na lateral, sisudas, os olhos fixos nas garotas como se um olhar pudesse colocá-las ao alcance. Desejou que a mãe olhasse para ela, conversasse novamente. Então, uma voz dura e alta se elevou do fundo do salão.
– Abram caminho para o rei da Inglaterra! Eleanor se empertigou e Richard retomou seu lugar ao lado dela. De repente, todos da sala estavam se movendo, mudando de lugar, homens saindo do caminho, flexionando e se curvando, e pelo espaço de repente vazio surgiu o pai de Nora. Ela foi para trás da cadeira da rainha, junto a Alais, ali de pé junto à parede. Apenas a rainha permaneceu em sua cadeira, o sorriso se fora. Todos os outros estavam curvados. O rei avançou a passos largos até Eleanor, e atrás dele o saguão logo esvaziou. Até mesmo as enfermeiras saíram. Dois dos homens do pai permaneceram de pé dos dois lados da porta, como guardas. – Meu senhor, deveria ter avisado; estaríamos mais preparados para o senhor – falou a rainha. O pai de Nora ficou olhando para ela. Vestia as mesmas roupas do dia anterior. As mãos grandes estavam apoiadas no cinto. A voz era áspera, como caminhar sobre o cascalho. – Achei que poderia ver mais se viesse sem me anunciar. Onde estão os meninos? – perguntou, o olhar passando por Richard. – Os outros meninos. A rainha deu de ombros. – Gostaria de se sentar, meu senhor? – perguntou, e um serviçal se apressou em trazer uma cadeira para ele. – Traga ao senhor meu rei uma taça de vinho. O rei se jogou na cadeira. – Não pense que não sei o que você está fazendo. Sua cabeça virou; ele acabara de ver Nora, logo atrás da rainha, e seus olhos se fixaram nela. Nora se mexeu, desconfortável. – Meu senhor, estou incerta sobre o que quer dizer – respondeu Eleanor. – Você é uma péssima mentirosa, Eleanor – acusou o rei. Ele se moveu na cadeira, pegou Nora pela mão e a arrastou, colocando-a entre as duas cadeiras, na frente dos dois. – Mas esta garotinha falou muito bem ontem, quando o resto de vocês fugiu. Acho que ela diz a verdade. De pé diante deles, Nora deslizou as mãos para as costas. A boca estava seca e ela engoliu uma vez. Sua mãe sorriu para ela. – Nora tem cabeça. Cumprimente seu pai, querida. – Deus esteja com o senhor, papai. Ele a encarou. Ao redor do centro negro os olhos dele eram azuis como placas do céu. A mão se ergueu e brincou delicadamente com a frente do seu vestido. Dentro do invólucro de tecido seu corpo encolheu para longe do toque. Ele alisou a frente do vestido. A mãe estava torcida na cadeira para observar. Atrás dela, Richard de pé, o cenho franzido. – Então. Acabou de sair do convento, não é. Gostou de lá? Ela ficou pensando no que deveria dizer. Em vez disso, falou a verdade. – Não, papai. Ele riu. Os buracos pretos ficaram maiores, depois menores. – Então, não quer ser freira? – Não, papai, eu quero... – começou, e para sua surpresa a história havia mudado. Ela descobriu uma súbita coragem ansiosa. – Eu quero ser uma heroína. Eleanor deu um risinho, e o rei bufou.
– Bem, Deus lhe deu a estatura errada – comentou ele, e o olhar se deslocou para além dela. – Para onde você vai? – Lugar nenhum, meu senhor – respondeu Richard com voz fria. O rei riu mais uma vez, mostrando os dentes. Ele tinha um cheiro azedo, como de cerveja velha e roupas sujas. Seus olhos observaram Nora, mas ele falou com a mãe. – Quero ver meus filhos. – Eles estão alarmados por causa do que aconteceu com Becket – avisou a rainha. – Eu vou cuidar de Becket. Fique fora disso. O serviçal veio com a taça de vinho e ele a pegou. Nora moveu os pés, querendo se afastar deles, o tom de suas palavras como facas no ar. – Sim, bem, o modo como você lida com Becket está nos levando a lugares estranhos – replicou a mãe. – À morte de Deus! – brindou ele, erguendo a taça, e a esvaziou. – Não sabia que ele tinha tanta fome de martírio. Você o viu. Ele já parece um homem idoso. Isso é um alerta contra a virtude, se ela o transforma numa cegonha daquelas. A mãe olhou para a sala. – Não, você está certo. Não é bom para sua justiça quando metade dos homens do reino pode lhe dar as costas. Ele se virou para ela, o rosto fechado. – Ninguém me dá as costas. – Bem – ela o encarou enquanto falava, um sorriso na boca, mas não do jeito bom –, parece que sim. – Mamãe – disse Nora, lembrando de como fazer aquilo. – Com a sua licença... – Fique – ordenou o pai que, esticando a mão, a segurou pelo braço e a puxou para a frente, em seu colo. – Nora... – começou a mãe. Atrás dela, Richard avançou um passo, olhos arregalados. Nora se agitou, tentando ficar empertigada nos joelhos do pai; os braços dele a cercavam como uma gaiola. A expressão no rosto da mãe a assustou. Ela tentou se libertar e os braços dele apertaram ao redor dela. – Mamãe... – Solte-a, senhor – a voz da rainha estava dura. – O quê? – perguntou o rei com um risinho. – Você não é minha queridinha, Nora? – Ele deu um beijo na bochecha de Nora. Seus braços se fecharam sobre ela; uma das mãos acariciou seu braço. – Eu quero meus filhos. Traga meus filhos de volta para cá, mulher. De repente, ele estava empurrando Nora para longe, fora de seu colo, sobre seus pés, e em seguida se ergueu. Apontou o dedo para Richard. – Venha comigo. Os pés dele bateram o chão com força. Todos estavam olhando para ele, calados. Passou pesadamente pela porta, Richard em seu encalço. Nora esfregou a bochecha, ainda molhada onde a boca do pai tinha pressionado; seu olhar foi na direção da mãe. A rainha estendeu os braços, Nora foi até ela. Então sua mãe a apertou com força. Disse: – Não tenha medo. Eu a protegerei – falou, voz insegura. Ela soltou Nora e bateu palmas. – Agora, vamos ouvir um pouco de música.
Colunas de fumaça se erguiam da bandeja de pãezinhos de amêndoas na comprida mesa de madeira. Nora desceu as escadas da cozinha se esgueirando junto à parede e se escondeu sob a beirada da mesa. Mais ao fundo da cozinha alguém cantava e outra pessoa ria; ninguém a notara. Ela esticou a mão pela lateral da mesa e pegou punhados de pãezinhos, jogando-os na dobra da saia, e quando a saia estava cheia se virou agilmente e subiu depressa os degraus, saindo pela porta. Logo depois do umbral, Alais dava pulinhos de encanto, os olhos brilhando, as mãos unidas. Nora deu um pãozinho a ela. – Rápido! – disse, e correu na direção do portão do jardim. – Ei! Meninas! Alais correu. Nora girou, já que conhecia aquela voz, e olhou para os olhos alegres de Richard acima. – Vai dividir? Eles foram para o jardim e se sentaram num banco junto à parede, comendo os pães. Richard lambeu o doce dos dedos. – Nora, estou indo embora. – Embora? Para onde? – Mamãe quer que eu vá encontrar Menino Henry e Geoffrey. Acho que só está querendo me manter longe do papai. Então, estou indo procurar alguns cavaleiros que me sigam. Sou duque agora, preciso de um exército – contou, depois a abraçou e colocou o rosto sobre seus cabelos. – Eu voltarei. – Você tem muita sorte – desabafou ela. – De ser um duque. Eu não sou ninguém! Por que sou menina? Ele riu, seu braço quente ao redor dela, sua bochecha sobre os cabelos. – Você não vai ser uma garotinha para sempre. Vai se casar um dia e então será uma rainha, como mamãe, ou pelo menos uma princesa. Eu ouvi eles dizerem que querem que você se case com alguém em Castela. – Castela. Onde é isso? Ela sentiu um arrepio de preocupação. Olhou no rosto dele. Achava que ninguém era tão bonito quanto Richard. – Em algum lugar na Marca Hispânica. Ele estendeu a mão para pegar o último pãozinho, e ela a segurou. Os dedos dele estavam grudentos. – Eu não quero ir embora – falou ela. – Vou sentir sua falta. Não vou conhecer ninguém. – Você não irá ainda. Castela significa castelos. Eles combatem os mouros lá. Você será uma cruzada. Ela franziu o cenho, confusa. – Em Jerusalém? No convento, eles sempre estavam rezando pela Cruzada. Jerusalém ficava do outro lado do mundo, e ela nunca tinha ouvido ser chamada de Castela. – Não, também há uma Cruzada na Espanha. El Cid, você sabe, e Roland. Como eles. – Roland – disse ela dando um pulinho de excitação. Havia uma canção sobre Roland, cheia de passagens emocionantes. Virou o rosto para ele novamente. – Eu terei uma espada? – Talvez – respondeu ele, beijando seus cabelos. – As mulheres não costumam precisar de espadas. Tenho que ir. Só queria dizer adeus. Você agora é a mais velha em casa, então tome conta de Johanna. – E Alais – completou ela. – Ah, Alais – falou ele, e tomou suas mãos. – Escute, Nora, está acontecendo alguma coisa entre mamãe e papai. Não sei o que é, mas alguma coisa. Seja corajosa, Nora. Corajosa e boa. Ele apertou o braço por um momento, depois se levantou e foi embora.
* * *
– Quando chegaremos a Poitiers? – perguntou Alais, alegre. Estava sentada numa arca nos fundos da carroça com a saia espalhada ao redor. Nora deu de ombros. As carroças iam muito devagar e tornavam a viagem muito mais longa. Ela desejava que a deixassem montar a cavalo. Sua babá subiu na frente da carroça, virou e ergueu Johanna. O condutor chegou com a parelha, as rédeas numa das mãos, virou os traseiros dos cavalos para a carroça e os colocou em posição. Talvez a deixasse segurar as rédeas. Pendurou-se na lateral da carroça, olhando o pátio, cheio de outras carroças, pessoas empacotando as coisas de sua mãe, uma fila de cavalos selados esperando. – Lady Nora, sente-se – mandou a babá. Nora continuou de costas para ela para mostrar que não ouvira. Sua mãe saíra pela porta do saguão, e ao vê-la todos os outros no pátio inteiro se viraram para ela como se fosse o sol; todos aquecidos por aquela luz. – Mamãe! – chamou Nora, acenando, e a mãe acenou de volta. – Lady Nora! Sente-se! Ela se apoiou na lateral da carroça. Atrás dela, Alais soltava um risinho e lhe dava uma cotovelada. Um cavalariço trazia o cavalo da rainha; ela dispensou alguém que esperava para ajudá-la e montou sozinha. Nora observou como fez aquilo, como manteve a saia sobre as pernas, mas ainda assim as passou pela sela. Sua mãe cavalgava como homem. Ela iria cavalgar assim. Então, veio do portão um grito. – O rei! Na arca, Alais se virou para olhar. Nora enrijeceu. Seu pai, em seu grande cavalo preto, passava pelo portão, uma fila de cavaleiros atrás dele, em cotas de malha e armados. Procurou Richard, mas não estava com eles. A maioria dos cavaleiros teve de ficar fora do muro por não haver espaço no pátio. Eleanor virou seu cavalo, parando ao lado da carroça, perto o suficiente para Nora esticar a mão e tocá-la. O cavalo andou de lado, erguendo a cabeça. Com o rosto sombrio, o rei forçou passagem por entre a multidão até ela. – Meu senhor, o que é isto? – quis saber a rainha. Ele lançou um olhar amplo ao redor do pátio. Seu rosto era borrado pela barba, e os olhos estavam vermelhos. Nora se sentou na arca. O pai esporeou o cavalo e o colocou colado atrás do da mãe. – Onde estão meus filhos? – Meu senhor, eu realmente não sei. Ele a encarou, furioso. – Então, farei reféns – falou, virando na sela e olhando para seus homens atrás. – Peguem as meninas. Nora levantou de um pulo. – Não – disse a rainha, se colocando à força entre ele e a carroça, quase nariz a nariz com ele, punho cerrado. – Mantenha suas mãos longe de minhas filhas. Alais esticou a mão e agarrou a saia de Nora. Ele projetou o rosto na direção dela. – Tente me impedir, Eleanor! – Papai, espere – pediu Nora, se curvando sobre a lateral da carroça. – Queremos ir para Poitiers. O rei falou maldosamente. – O que você quer. Dois homens tinham desmontado e avançavam às pressas na direção da carroça. Ele nunca desviou os olhos da rainha. O cavalo dela se colocou entre os homens e a carroça. Inclinando-se mais para perto do rei, ela falou em voz baixa: – Não seja tolo, meu senhor, em questão tão pequena. Se fizer isto tão impetuosamente, nunca os terá de volta. Alais tem aquele belo dote; leve-a. – Mamãe, não! – gritou Nora, esticando o braço. Alais lançou os braços ao redor de sua cintura. – Por favor... Por favor... A rainha em nenhum momento olhou para elas. – Fique quieta, Nora. Eu cuido disso. – Mamãe! – exclamou Nora, tentando segurá-la, fazê-la se virar e olhar. – Você prometeu, mamãe, prometeu que ela iria conosco! Seus dedos rasparam no tecido macio da manga da mãe. Eleanor a acertou com força, jogando-a dentro da carroça. Alais soluçou. Os homens do rei estavam vindo novamente na sua direção. Nora se lançou contra eles, os punhos erguidos. – Vão embora! Não ousem tocar nela! Alguém a pegou por trás e a tirou do caminho. Os dois homens passaram pela lateral da carroça e pegaram a pequena princesa francesa. Eles a arrastavam por cima da lateral. Ela gritou uma vez, depois ficou flácida, indefesa em seus braços. Nora passou o braço pela cintura dela, e só então viu que era sua mãe quem a segurava. – Mamãe, você prometeu. Ela não quer ir. Eleanor colou o rosto no de Nora. – Fique quieta, menina. Você não sabe o que está fazendo.
Atrás dela, o rei afastava seu cavalo. – Você pode ficar com essa. Talvez um dia ela a envenene. Saiu cavalgando atrás de seus homens, que agarravam Alais. Outros homens pegavam a bagagem da menina. Eles a levavam embora como bagagem. Nora deu um grito sem palavras. Com um comando seco, seu pai liderou seus homens pelo portão novamente, levando Alais como um troféu. Com o braço ainda ao redor da cintura de Nora, Eleanor franzia o cenho para o rei. Nora se libertou e a mãe se virou para encará-la. – Bem, Nora, isso não foi nada decente, foi? – Por que fez isso, mamãe? – perguntou Nora com uma voz aguda e furiosa, sem se preocupar com quem pudesse ouvir. – Vamos lá, menina – ordenou a mãe, a sacudindo. – Controle-se. Você não entende. Com um movimento violento do corpo inteiro, Nora se soltou da mãe. – Você disse que Alais podia ir – falou, e algo profundo e duro crescia nela, como se tivesse engolido uma pedra. Começou a chorar. – Mamãe, por que mentiu para mim? A mãe piscou para ela, a testa enrugada. – Eu não posso fazer tudo – falou, esticando a mão, como se pedindo algo. – Vamos lá, seja razoável. Você quer ser como seu pai? Lágrimas escorriam dos olhos de Nora. – Não, e também não como você, mamãe. Você me prometeu, e mentiu – acusou, e empurrou a mão estendida. Eleanor se encolheu; ergueu o braço e deu um tapa no rosto de Nora. – Criança cruel e ingrata! Nora se sentou com força. Enfiou os punhos no colo, os ombros encolhidos. Alais tinha ido embora; no final não conseguiu salvá-la. Não importava que na verdade não gostasse muito de Alais. Ela queria ser uma heroína, mas era apenas uma garotinha, e ninguém ligava. Ela se virou para a arca e cruzou os braços sobre ela, baixou a cabeça e chorou. Mais tarde se apoiou na lateral da carroça, olhando para a estrada à frente. Ela se sentia idiota. Alais estava certa: não podia ser rei, e não podia nem ser uma heroína. As babás cochilavam nos fundos da carroça. Sua mãe levara Johanna sentada na sela diante dela para mostrar a Nora como fora má. O condutor da carroça estava em seu banco, de costas. Ela se sentia como se ninguém pudesse vê-la, como se nem estivesse lá. De qualquer forma, não queria ser rei se isso significava ser mau, gritar e levar as pessoas embora à força. Queria ser como a mãe, mas a antiga mãe, a mãe boa, não aquela nova que mentia e quebrava promessas, que batia e falava nomes feios. Alais tinha dito: “Sua mãe é indecente”, e ela quase chorou novamente, porque era verdade. Ela iria contar a Richard quando voltasse. Mas então algo em seu estômago se apertou como um nó: se voltasse. De algum modo o mundo inteiro havia mudado. Talvez até mesmo Richard fosse falso então. “Você será uma cruzada”, ele tinha lhe dito.
Ela não sabia se queria aquilo. Ser uma cruzada significava ir muito, muito longe, e então morrer. “Seja boa”, falara Richard. “Seja corajosa.” Mas ela era apenas uma garotinha. Sob todo o amplo céu azul ela era apenas um pontinho. A carroça sacudia ao longo da estrada, parte da grande caravana seguindo para Poitiers. Ela olhou ao redor, para os serviçais caminhando entre as carroças, as cabeças de cavalos e mulas balançando, as pilhas de bagagem amarradas com cordas. Sua mãe não estava prestando atenção nela, tinha seguido à frente, no grupo de cavaleiros que abria o caminho. As babás estavam dormindo. Ninguém a vigiava. Ninguém ligava mais. Ela esperou desaparecer. Mas não desapareceu. Ela se levantou, segurando na lateral para não cair. Passou cuidadosamente para a frente da carroça e para o banco, mantendo a saia sobre as pernas, e se sentou ao lado do condutor, que a olhou estupidamente, um rosto largo e moreno numa barba emaranhada. – Veja, minha pequena dama... Ela esticou a saia, colocou os pés firmemente no apoio e ergueu os olhos para ele. – Eu posso segurar as rédeas?
.
.
MELINDA M. SNODGRASS
Escritora cujas obras abrangem diversos meios e gêneros, escreveu vários roteiros para programas de televisão, como Profiler e Jornada nas Estrelas: a nova geração (da qual também foi durante muitos anos editora de roteiro), vários romances populares de ficção científica e foi uma das criadoras da longa série “Wild Cards”, para a qual também escreveu e editou. Entre seus romances estão Circuit, Circuit Breaker, Final Circuit, The Edge of Reason, Runespear (com Victor Milán), High Stakes, Santa Fe e Queen’s Gambit Declined. Seu romance mais recente é The Edge of Ruin, sequência de The Edge of Reason. Entre seus romances estão Double Solitaire, da série “Wild Cards”, e o romance de Jornada nas Estrelas, The Tears of the Singers. Também é editora da coletânea A Very Large Array. Mora no Novo México. Aqui ela nos leva a um planeta distante para mostrar que, mesmo numa sociedade em que naves espaciais cruzam a noite e alienígenas se misturam a humanos em ruas de cidades movimentadas, você pode se envolver em alguns jogos que remontam muito tempo atrás.
.
.
AS MÃOS QUE NÃO ESTÃO LÁ
Copo encontrou copo com tilintares abafados e fora do tom enquanto o bartender humano preparava os pedidos. Uma garçonete hajin com uma comprida juba vermelha emaranhada que descia pelas costas nuas produzia estalos quando circulava com seus cascos delicados pelo bar servindo drinques. Os clientes eram um grupo ranzinza, meras sombras encolhidas na boate escura e cuidadosamente sentados a mesas bem distantes umas das outras. Ninguém conversava. Para substituir a conversa havia comentaristas narrando um jogo de futebol que passava na tela da parede acima do bar. Mesmo aquelas vozes eram grunhidos, pois o som era bem baixo. O cheiro de cerveja derramada e óleo de cozinha rançoso se espalhava em meio à fumaça, mas eles e o tabaco eram abafados pelo odor de desespero e raiva em ebulição. Aquele buraco úmido era o lugar perfeito para o humor do segundo-tenente Tracy Belmanor. Ele o escolhera por ser bem distante do espaçoporto, o que significava que não encontraria qualquer dos seus colegas de tripulação. Ele deveria estar feliz. Formara-se na academia militar da Liga Solar no mês anterior e já recebera seu primeiro posto. O problema era que seus colegas de tripulação haviam saído como novos primeiros-tenentes, o que não fora o caso do mal-nascido filho do alfaiate, que frequentara a academia com uma bolsa. Ao receber sua insígnia, ele olhara para as estrelas e para a barra única e se dera conta de que estava um degrau abaixo de seus colegas de turma aristocráticos, embora suas notas fossem melhores e seu desempenho de voo, igual ao de todos com exceção de Mercedes, cujos reflexos e capacidade de suportar grandes acelerações envergonharam todos. Quando ele olhara para o comandante de High Ground, vice-almirante Sergei Arrington Vazquez y Markov, o grande homem dera a explicação despreocupada, sem qualquer consciência de como fora insultuosa. “Você precisa entender, Belmanor, não seria bom para você estar em posição de dar ordens a seus colegas de classe, especialmente à infanta Mercedes. Dessa forma, você nunca assumirá a ponte sozinho, e assim será poupado do constrangimento.” A implicação de que ele ficaria constrangido de dar uma ordem a babacas bem-nascidos, incluindo à filha do imperador, incendiara seu temperamento inflamável demais. “Estou certo de que será um grande consolo para mim quando você estiver morrendo porque um desses idiotas destruiu a nave.” Mas claro que ele não dissera aquilo. As palavras imprudentes estiveram na ponta da língua, mas após quatro anos sendo treinado em protocolo e cadeia de comando, ele conseguiu engolir a resposta raivosa. Em vez disso, bateu continência e conseguiu dizer um simples “Sim, senhor”. Pelo menos não agradecera a Markov pelo insulto. Depois ele ficara pensando em por que não dissera nada. Covardia? Será que ele ficara intimidado pelas FFH? Aquele era um pensamento terrível, pois implicava que ele de fato sabia o seu lugar. Se quisesse ser honesto consigo mesmo, esse foi o motivo pelo qual não fora ao baile de formatura. Sabia que nenhuma das damas de companhia de Mercedes o teria aceitado como acompanhante. Ele não poderia levar uma mulher de sua própria classe social. E Mercedes era a filha do imperador, e ninguém poderia saber o que haviam partilhado, ou que Tracy a amava e ela o amava. Então, não fora ao baile. Em vez disso, ficou de pé na Crystal Bridge em Ring Central e viu Mercedes, sem o uniforme e uma visão em carmim e ouro, entrar no salão de baile de braços dados com Honorius Sinclair Cullen, Cavaleiro de Arcos e Conchas, duque de Argento, conhecido informalmente como Boho e nêmese e rival de Tracy. Teria de ser Tracy ao lado dela. Mas nunca poderia ser. Tracy deu um longo gole em seu uísque, esvaziando o copo. Era álcool barato, queimou em sua garganta e assentou como carvão em brasa em suas entranhas. Diferentemente dos outros clientes melancólicos e nada comunicativos, ele escolhera se sentar no bar. O bartender, um homem grande cujas listras do avental escondiam a sujeira de modo imperfeito, anuiu para seu copo vazio. – Outro? – Claro. Por que não? – Você está virando todas mesmo, garoto – comentou, e Tracy ergueu os olhos, surpreso com a gentileza nos olhos castanhos do homem. – Vai conseguir encontrar o caminho de volta para sua nave? O uísque caiu no copo gorgolejando. – Talvez fosse melhor se eu não encontrasse. Um trapo saiu do bolso do avental e limpou a superfície de aço do bar. – Você não vai querer fazer isso. A Liga enforca desertores. Tracy virou a bebida de um só gole e lutou contra a náusea. Sacudiu a cabeça. – Não eu. Eles não iriam procurar por mim. Ficariam contentes pelo Constrangimento ter sido silenciosamente varrido para baixo do tapete. – Olhe, garoto, você tem problemas. Dá para ver isso. – Uau, você é sempre tão perspicaz? – Veja como fala – as palavras foram ditas suavemente e com um leve sorriso. – Olhe, se quiser se sentir melhor sobre a situação da galáxia e seu lugar nela, deveria conversar com aquele cara. Pode ser tudo besteira, mas Rohan tem uma senhora história. Tracy olhou na direção que o dedo apontava e viu um homem corpulento de altura mediana sentado a uma mesa de canto embalando um copo vazio. Seus cabelos escuros estavam mesclados de grisalho e sua testa era grande demais por causa de cabelos que recuavam. O bartender foi até a extremidade do bar e começou a encher os copos vazios na bandeja da hajin. Tracy olhou de novo para o homem tombado. Por impulso, pegou seu copo e foi até a mesa. Apontando com o polegar para o bartender por cima do ombro, Tracy falou: – Ele diz que você tem uma boa história que vai me dar uma nova perspectiva de tudo.
Tracy puxou uma cadeira com o pé e se sentou. Em parte, esperava que o homem discordasse e começasse uma briga. Estava no clima de acertar alguém, e ali em Wasua, diferentemente de em High Ground, uma briga não se transformaria num duelo idiota. Tracy tocou a cicatriz em sua têmpora esquerda, presente de Boho. Um olhar mais atento no homem revelou a improbabilidade de uma briga ter início. Não havia músculos abaixo da gordura, e bolsas escuras e inchadas pendiam abaixo dos olhos. – Loren não acredita em mim – disse Rohan. – Mas é tudo verdade. O álcool tornava as palavras arrastadas, mas Tracy podia ouvir o sotaque aristocrático de um membro das Fortune Five Hundred. Deus bem sabia que ele conseguia reconhecer. Passara quatro malditos anos escutando isso. Até mesmo temia ter começado a imitar. – Certo, eu engulo. O que é tudo verdade? A ponta da língua do homem lambeu os lábios. – Eu contaria a história melhor com algo para molhar a garganta. – Certo, tudo bem – falou Tracy, indo ao bar e voltando com uma garrafa de bourbon. Bateu com ela na mesa entre os dois. – Aqui. Agora paguei pela história. Então vá em frente, me impressione. Rohan se ergueu, mas o movimento orgulhoso foi prejudicado quando começou a oscilar na cadeira. Uma mão roliça agarrou a beirada da mesa e ele se estabilizou. – Eu sou mais, muito mais do que pareço. – Certo – concordou Tracy, prolongando a palavra. O homem olhou ao redor com cautela exagerada. – Eu preciso ter cuidado. Se eles soubessem que eu estava falando... – Sim? O homem passou um dedo pelo pescoço. Ele se inclinou sobre a mesa. Seu hálito era uma mistura nauseante de álcool e halitose. – O que vou lhe dizer poderia abalar as fundações da Liga. – O bêbado se serviu uma bebida, virou e continuou: – Mas aconteceu, tudo, e é tudo verdade. Escute e aprenda, jovem. Rohan encheu novamente o copo, completou o de Tracy e brindou com o seu. Dessa vez, se limitou a um golinho em vez de virar. Suspirou e não pareceu mais se concentrar no jovem oficial. – Tudo começou quando um dos meus ajudantes organizou uma despedida de solteiro...
Se um clube de striptease pudesse ser considerado de bom gosto, Rohan achou que aquele se encaixaria na descrição. Não que ele fosse um especialista. Aquela era sua primeira vez naquele tipo de estabelecimento onde mulheres humanas se exibiam, para fúria da Igreja. Então, por que concordara em se juntar à sua equipe numa festa só para homens a fim de comemorar o casamento iminente de Knud? A resposta era simples. “Porque o último amante da minha esposa tem a mesma idade da minha filha, e isso foi demais.” Então sua presença no Cosmos Club era o quê? Vingança? E qual a probabilidade de que Juliana fosse descobrir um dia? Incrivelmente pequena. E que ela se importasse? Ainda menor. Ele corou quando uma recepcionista quase nua, os seios e o monte de Vênus delineados por um arreio cravejado de joias, pegou seus casacos e, com os gestos de mão graciosos de uma cortesã treinada, os conduziu até o maître sorridente, um homem bonito com barba quadrada e olhos pretos cintilantes. Ele conduziu o grupo por portas altas até a boate propriamente dita. A iluminação no salão principal era reduzida, mas holofotes acoplados lançavam fogo sobre as plataformas que giravam devagar com belas mulheres nuas. As plataformas eram projetadas como galáxias em espiral, as estrelas formadas por diamantes falsos. Rohan ficou olhando para as nádegas roliças das garotas e pensando como ficariam aqueles traseiros após uma longa noite sentados nas plataformas. Entre as plataformas havia um palco feito de vidro transparente. Um poste de cristal se projetava como uma declaração agressiva do centro do palco. Garçonetes vestidas – isso mesmo, vestidas – com o mesmo tipo de arreio com joias usado pela recepcionista se moviam entre as mesas, servindo bebidas e comida. Rohan viu um Brie en croûte acompanhado de cerejas azedas passar numa bandeja, e os aromas que vinham da cozinha eram tão bons quanto qualquer coisa que ele cheirara nos melhores restaurantes da cidade. Sua barriga roncou em apreço. Sim, decididamente um estabelecimento elegante, atendendo aos ricos e bem-nascidos das FFH. Outra anomalia chamou sua atenção. Não havia alienígenas presentes. A equipe era toda humana, uma afetação cara. Rohan supôs que, nas entranhas da cozinha, hajin e isanjo trabalhavam lavando pratos, mas a imagem criada para os clientes era agressivamente humana. John Fujasaki reservara uma mesa circular na beirada do palco. Um balde de champanhe cheio de gelo e a esperada garrafa já estavam lá. Enquanto o grupo se acomodava, o maître abriu a garrafa com um estalo discreto e encheu os copos. Os estofados eram ricos, feitos de um tecido natural que sentiu a tensão na base da coluna de Rohan e começou a massagear o local. A holomesa flutuante exibia imagens de fenômenos astronômicos espetaculares que mudavam constantemente. Rohan olhou, hipnotizado, enquanto uma supernova nascente tentava consumir sua bebida. John Fujasaki, o instigador daquela saída, se inclinou para perto de Rohan e murmurou: – O senhor está corando. Havia um riso nas palavras. – Não estou acostumado a ver tanta... carne... feminina – retrucou ele. – Perdoe-me por dizer, mas o senhor precisa sair mais – foi a resposta. Depois John se virou para responder a outro comentário. Rohan viu as bolhas subindo em sua taça e imaginou o que o jovem ajudante pensaria se soubesse que seu chefe frequentava estabelecimentos menos respeitáveis em Pony Town que atendiam humanos com gosto pelo alienígena e o exótico. Depois a hipocrisia de sua raiva com a esposa por sua infidelidade o chocou. Ele apelou à antiga defesa: esperava-se putaria dos homens, e nenhuma mulher deveria colocar chifres na cabeça do marido. As desculpas soaram vazias. John bateu em sua taça com uma colher. Os jovens homens ficaram em silêncio, e Fujasaki se levantou. – Bem, um brinde a Knud. Aqueles de nós que evitaram o estado civil de casados acham que ele está louco, e aqueles que aceitaram os laços do matrimônio também acham que ele está louco. Mas pelo menos esta noite vamos deixar de lado essas preocupações e nos concentrar em liberá-lo com estilo. Então, um brinde a Knud em sua última noite de liberdade, e que seja memorável! – gritou John. Houve gritos de “Aqui, aqui!” ao redor da mesa, copos se tocaram, foram esvaziados e enchidos. Knud, sorrindo mas com um toque de preocupação no fundo dos olhos, colocou a mão sobre o copo. – Ei, devagar, pessoal. Eu preciso estar razoavelmente em boa forma amanhã. – Não se preocupe, Knud – disse Franz. – Você está com a gente. – Por isso estou preocupado. Uma garçonete pegou seus pedidos de pratos. O álcool continuou a rolar. Rohan se viu pensando sobre os números da inflação no sistema solar Wasua. Aquilo fez com que mudasse de champanhe para bourbon. Uma banda começou a se apresentar ao vivo, e diferentes garotas em trajes variados e criativos subiram ao palco. Os trajes criativos eram despidos ao ritmo da música pulsante, e as damas eram todas muito... Rohan procurou uma palavra e optou por “flexíveis”. Quase todas as mesas estavam ocupadas, grupos de homens com suor brilhando em seus rostos, cachecóis e gravatas afrouxados, casacos retirados. Garotas se sentavam em colos e passavam dedos longos pelos cabelos de seus alvos. O murmúrio das conversas era grave e primal. Um quinteto de garotas dançava e cantava no palco uma antiga marcha SpaceCom, mas com uma nova e interessante letra. A música animada primeiramente fez Rohan cantarolar junto, depois cantar alto, mas era frustrante porque as garotas não conseguiam pegar a batida certa. Estavam atrasadas. Ele começou a reger, e sentiu seu cotovelo tocar em algo. – Ôa! – gritou Fujasaki. Havia uma grande mancha molhada na frente de suas calças. – Ele está bêbado – Rohan ouviu alguém dizer. – E daí? Todos estamos bêbados – retrucou Franz. – É, mas ele é o chanceler, e se... – começou Bret, um recém-contratado. – Relaxe. Eles limpam o lugar e mantêm a imprensa do lado de fora – replicou John. – É, relaxe, Bret. Estamos nos divertindo. Eu sou diversão. Eu... eu sou feito de diversão! – exclamou Rohan. As cinco saíram do palco em grupo, suas bundinhas animadas sacudindo de modo provocante. – Para onde elas estão indo? – perguntou Rohan. – Para onde todas essas damas adoráveis estão indo? – repetiu, e sentiu um aperto no peito com a tristeza daquilo. – Todas viraram esposas – disse Franz. – Que desperdício medonho – grunhiu Rohan. – Precisamos de uma comissão de especialistas; as garotas continuam a se transformar em esposas. É um escândalo. Precisamos de uma investiga... Uma batida de tambor interrompeu suas palavras pastosas. Todas as luzes da boate se apagaram a não ser por um único holofote penetrante voltado para o palco. Uma garota saltou para esse cone de luz. Ela parecia voar, tão alto foi seu grand jeté, e o manto comprido em suas costas aumentava a ilusão de voo. A música recomeçou, uma batida primitiva, urgente. Ela ficou na frente e no centro do palco, seus traços cobertos por uma máscara elaborada e um arranjo de cabeça. Tudo que podia ser visto era um queixo pontudo antinatural e o brilho de seus olhos. Ela segurou a beirada do manto com garras compridas dotadas de diodos emissores de luz e o tirou para revelar um traje elaborado, escondendo muito mais do que era comum numa stripper. Rohan ficou pensando se as garras eram costuradas em luvas. Ela começou a dançar. Nada de giros duros e poses sugestivas. Dançava com uma graça de tirar o fôlego. Seus braços traçavam padrões e os diodos deixavam rastros de fogo multicolorido no ar ao seu redor. Camadas começaram a cair. A multidão gritava em aprovação a cada peça de roupa que caía. Mais uma escorregou para o piso do palco e um comprido rabo sedoso coberto de brilhantes pelos vermelhos e brancos se desenrolou e dançou ao redor dela como uma cobra. Os gritos se transformaram em rugidos. A garota dançava perto de seus admiradores suados. Mãos se estendiam para ela como bebês cegos vendo um peito, mas ela sempre escapava. Menos quando aquelas mãos ansiosas seguravam varetas de crédito. Ela permitia que essas fossem inseridas no terminal de crédito que adornava o cinto baixo que cingia sua cintura. Rohan ficou sentado rígido, dedos agarrando a beirada da mesa, querendo que ela retirasse a máscara. “Mostre-me... Mostre-me.” Ela se aproximou da mesa deles. Os jovens se inclinaram sobre a mesa, varetas estendidas como alguma metáfora comercial para o sexo. Rohan não conseguia se mover. Apenas observou enquanto outra camada caía para revelar o pelo creme e vermelho que cobria as laterais do corpo e a barriga e subiam como a ponta de uma lança entre seus seios. A plateia engasgou. John despencou no reservado. – Pelo santo prepúcio do papa! – arfou. O ritmo da música acelerou. Saiu fogo das pontas de suas garras compridas. As joias e os sinos na máscara e no arranjo de cabeça soavam histericamente. Ela girou cada vez mais rápido, e depois outro grande salto a levou de volta ao centro do palco. Pernas bem abertas, mãos sustentando os seios. Ela as deslizou lentamente para cima do peito, sobre o pescoço, ergueu a máscara e o arranjo de cabeça e os lançou de lado. Era alienígena e ainda assim familiar. Rohan devorou seus traços. Notando o pequeno nariz empinado com narinas dilatando, orelhas pontudas se projetando por entre os selvagens cachos creme e vermelhos, com tufos nas pontas. Olhos felinos verde-esmeralda. – Uma alienígena – disse Bret, e sua voz revelava ao mesmo tempo desgosto e lascívia. Apagão. As luzes se acenderam. O palco estava vazio. Conversas excitadas ao redor da mesa.
– Cirurgia cosmética? – Não. Deve ser uma daquelas mestiças cara. – Achei que tínhamos matado todos eles. – Deveríamos. Repulsivo. – Ei, apaguem as luzes, fechem os olhos e pensem nisso como lingerie exótica – brincou John com uma risada. A sala parecia inchar e recuar ao redor de Rohan. Seu coração batia forte no peito, e sua respiração era breve. Uma ereção pressionava sua braguilha. Ele saiu cambaleando do reservado. – Senhor? – Está bem? – Para onde está indo? Ele não respondeu.
– Espere – disse Tracy. – Uma mestiça meio-cara, meio-humana? Não existe tal coisa. Para começar, é ilegal – comentou o jovem oficial apontando para a garçonete hajin. – Em segundo lugar, nosso equipamento pode funcionar, mas não há como produzirmos crias. Rohan balançou o dedo para ele, censurando. – Ah, mas lembre-se de que os cara eram mestres em genética. Já estavam fundindo genes de todas as raças alienígenas conhecidas muito antes dos humanos entrarem em cena. Ansiavam para nos acrescentar à mistura, e não conseguiram acreditar que a Liga falava sério quando foi determinada a proibição de fusão alienígena-humana. Tracy tomou um gole de sua bebida. Ele sabia por seus estudos que os cara não tinham um padrão físico. Faziam corpos sob medida para se adequar às diferentes situações. Mudavam de sexo quando queriam. Passaram milhares de anos recolhendo, misturando e manipulando o material genético de todas as raças que encontravam. Uma tarefa facilmente realizável, já que os cara passavam as vidas a bordo de enormes naves comerciais que viajavam entre sistemas, ou nas lojas abastecidas por essas naves. Para eles, o maior pecado era a uniformidade. Acreditavam que a diversidade era o segredo da sobrevivência e da evolução. Isso soara horrendo aos humanos, e a pureza humana se tornou uma obsessão. Grande parte da pesquisa e da manipulação genéticas foi proibida por medo de que os cara conseguissem descobrir um modo de afetar o genoma humano básico. Tracy disse isso a Rohan. O homem mais velho balançou a cabeça. – Sim, mas isso não os desencorajou. Eles conseguiram voluntários, humanos insatisfeitos e hostis à Liga, e produziram milhares de mestiços. Ele pegou seu copo e o pousou várias vezes. Transformando os círculos formados pela condensação num padrão concêntrico. – Então, por que fazer essa garota parecer tão diferente? – perguntou Tracy. – Eles poderiam ter feito a cria se parecer com qualquer coisa. Até mesmo com uma humana. Rohan ergueu os olhos.
– Esse foi o erro deles. Era o que deveriam ter feito. Em vez disso, tentaram reduzir qualquer reação manipulando os genes para fazer com que as crianças parecessem atraentes aos humanos. Ou pelo menos o que pensaram que seria atraente. Eles tinham notado que gostamos de gatos. Portanto Sammy – contou Rohan, enchendo seu copo e tomando um longo gole. – Eles não se deram conta de que isso tornaria as crianças muito mais horrendas. – Mas você não sentiu repulsa de... Sammy? – Samarith, seu nome inteiro era Samarith. E não, não senti repulsa, mas eu tinha uma queda pelo exótico. Eles sabiam disso. E se valeram disso.
O estômago de Rohan estava revirando, a cabeça latejava. Ele cambaleou pela antessala e saiu para a rua. A maresia clareou um pouco a sua cabeça. Chegou ao canto do prédio e foi em busca da porta do palco. “O que você está fazendo?”, perguntou a parte racional de sua mente. – Estou indo cumprimentá-la por sua dança – disse ele em voz alta. “E perguntar sobre sua vida. Explorar seus pensamentos. Partilhar seus sonhos. Foder de enlouquecer.” Ele encontrou a entrada lateral e avançou. Dentro, o cheiro de suor e maquiagem rançosa emanava das paredes e pairava no ar. Rohan engoliu em seco e tentou encontrar o caminho passando pelo painel de controle de iluminação. Seguiu por um corredor e se viu colado na parede quando um grupo de garotas passou acelerado na direção do palco. No aperto daquele espaço estreito, elas se esfregaram nele. Pôde sentir o calor de suas peles nuas mesmo através de suas roupas, e sua ereção brotou novamente. Encontrou outro corredor, mas esse era protegido por um homem alto com uma grande barriga pendurada. Rohan tentou passar por ele e foi bloqueado. Os bíceps expostos do segurança tinham tatuagens militares e eram cobertos de gordura. As luminárias do teto reluziam em sua cabeça raspada. – Aonde você pensa que vai? – Eu gostaria de ver a jovem que acabou de se apresentar. – Você e todos os outros aristo... – começou o homem, espiando a virilha de Rohan. – Que guardam os cérebros nos paus. Rohan olhou para ele boquiaberto. – Meu bom homem, não pode se dirigir assim a mim. – É, eu posso. E se você quiser ver Sammy isso irá lhe custar. Ele projetou o quadril para a frente, exibindo seu terminal de crédito. Não produziu o mesmo efeito de quando as dançarinas faziam isso. Rohan vacilou, lembrou-se do rostinho daquela coisinha, sacou sua vareta de crédito e pagou. – Onde posso encontrá-la? – perguntou Rohan. – Siga sua pica. Ela parece fazer um trabalho muito bom como varinha mágica. O segurança se colocou de lado e Rohan seguiu pelo corredor, conferindo todas as portas no caminho. Risinhos e dois convites lascivos foram recebidos enquanto ele abria e fechava portas. O dela era o quinto camarim que conferiu. Ela vestia um robe verde-escuro e estava sentada a uma mesa de maquiagem. A gaveta de baixo estava aberta e nela repousava um pé descalço. O robe tinha caído de lado, revelando a bela perna quase até o quadril. Fumaça do estimulante que ela segurava languidamente numa das mãos girava como uma aura ao redor das extremidades de suas orelhas pontudas. Ela o examinou com um longo olhar daqueles impressionantes olhos verdes de gato. – Quanto você pagou? – Desculpe-me? – A Dal. Quanto você pagou a ele para chegar aqui? – Trezentos. – Você foi roubado. Ele o teria deixado entrar por metade disso. – Vou me lembrar disso da próxima vez. Samarith acendeu um novo estimulante e o encarou. Rohan deslocou o peso de um pé para outro, desconfortável. – Não quer saber por que estou aqui? – finalmente perguntou. Ela deixou seu olhar baixar para sua virilha. – Você está me dando uma dica de tamanho médio. A ereção dele murchou. – Aaaah, eu estraguei – falou ela, prolongando as palavras. – Gostaria de convidá-la para jantar. – Antes o cortejo? Bem, essa é nova – comentou, levantando e esmagando seu estimulante. – Há um lugar bastante bom em Pony Town que serve até tarde. – Eu pretendia levá-la à French Bakery. Era o melhor restaurante da capital. Achou que iria impressioná-la. Ela riu. – Você é um idiota. Meio doce, mas um idiota – falou, e ele olhou, boquiaberto. – É melhor ser discreto. – Você não foi muito discreta esta noite – devolveu Rohan. – Esta é uma boate de striptease. Pode ser frequentada pelo seu pessoal, mas continua sendo uma boate de striptease. Você me exibir em público não seria bom para nenhum de nós. E por falar nisso, quem é você? Qual descendente de qual casa nobre é você? – Como sabe que sou FFH? – Ah, faça-me o favor – as palavras dela estavam marcadas pelo desprezo. Ele pensou em seu trabalho e no estresse que gerava. Pensou em sua esposa fria e distante. – Eu não posso ser só “Rohan” esta noite? Ela inclinou a cabeça de lado, uma visão cativante, e o avaliou. Seu tom era mais gentil quando falou. – Certo. Eu o chamarei de Han, e você pode me chamar de Sammy, e esta noite fingiremos não ser quem e o que somos. – E depois desta noite? – perguntou Rohan. – Isso depende de como será esta noite.
Rohan deixou que Sammy ensinasse o caminho ao seu chofer hajin, Hobb. Nem ele nem Hobb deram a entender por palavras ou atos que conheciam a área. Mas ele a conhecia bem. Sua casa de massagem preferida ficava poucas ruas depois. Era um lugar onde homens com preferências similares à sua podiam sentir o toque do exótico. Ele gostava do modo como o pelo macio e as palmas ásperas de uma massagista isanjo faziam cócegas em sua pele e pressionavam seus músculos. Naquela noite, o calor do verão cedera e era agradável estar ao ar livre. Humanos, hajin, isanjo, tiponi flutes e slunkis percorriam as ruas escutando os músicos que se apresentavam nas esquinas. Jogavam jogos de azar ou habilidade – tudo desde xadrez a dados, passando por um grupo de flutes inclinados que jogava seu incompreensível jogo de varetas. Fregueses se deixavam ficar nos restaurantes. Amantes se abraçavam nos bancos do pequeno parque, enquanto os idosos sentados contemplavam as naves decolando do espaçoporto Cristóbal Colón. Hobb abriu as portas do veículo para eles. Rohan saiu e sentiu o ronco sob os pés quando outra nave espacial saltou para o céu. O fogo dos motores era uma cicatriz vermelho-alaranjada rasgando a escuridão. Por um breve momento ele quase eclipsou a luz da nebulosa que flutuava acima. As linhas compridas e a evidente elegância do veículo atraíram vários olhares. – Eu o chamarei quando estivermos prontos para partir – avisou Rohan a Hobb. O hajin baixou a comprida cabeça ossuda, revelando a juba dourada entre o colarinho e o chapéu. Rohan se virou para Sammy. Ela vestia calças apertadas enfiadas em botas de cano alto e uma camisa de seda, em vários tons de verde e azul, que era amarrada de formas interessantes para fazer com que pendesse e fluísse. Os cabelos creme e vermelho caíam sobre os ombros. Ela atraía olhares. Rohan se esforçou para respirar. – Então, onde gostaria de comer? – perguntou. – Ali. Ela apontou para um restaurante isanjo. Havia árvores em vasos com redes de corda penduradas entre elas. Isanjos, usando mãos, pés e caudas preênseis disparavam pelas linhas trançadas. De algum modo, nenhum dos itens em suas bandejas tombava, escorregava ou caía. Eles se instalaram em cadeiras de cordas trançadas e um garçom deslizou pelo tronco da árvore junto à sua mesa. Seu terminal de pedidos pendia do pescoço juntamente com um terminal de crédito. – Bebidas? – perguntou, o focinho fazendo com que ciciasse ao falar. – Champanhe – respondeu Rohan. – Eu na verdade não gosto de champanhe – disse Sammy. – Ah. Perdoe-me. Do que gostaria? – Tequila. O garçom voltou os grandes olhos escuros para Rohan. Seu negror em contraste com o pelo dourado o fazia parecer incompreensível e terrivelmente alienígena. – Vou beber a mesma coisa que a dama – falou Rohan, fazendo disso um gesto de galanteio. Com um pulo, a criatura estava no alto da árvore, agarrando as cordas e disparando. – Você é cheio de cortesias, não é mesmo? – comentou Sammy. – Pelo menos gosta de tequila? – O bastante. – O que você bebe em casa? – perguntou ela, fixando nele aqueles olhos esmeralda de gato. – Champanhe, martínis. Nos meses de verão eventualmente bebo cerveja e gim-tônica. Vinho no jantar. Por que pergunta? – Com qual frequência você bebe? – Toda noite – soltou antes que pudesse se conter. – E por que o interrogatório? Você está parecendo o meu médico. – Você bebe para relaxar ou para esquecer? Ou ambos? – Você está levando isso a sério demais. Eu bebo porque... Gosto de uma bebida à noite. Só isso. Mas se viu lembrando-se da noite cinco semanas antes quando ouvira o riso metálico de Juliana enquanto flertava com o jovem oficial que naquele momento habitava a cama dela. Ele bebera até ficar inconsciente naquela noite. Outro isanjo pousando junto à mesa assustou Rohan e o arrancou de seu devaneio deprimente. Uma tigela de molho e pedaços de pão foram colocados na mesa. O cheiro pungente do molho fez Rohan lacrimejar e sua boca se encheu d’água. – Você estava bêbado esta noite – disse Sammy, e jogou um pedaço de pão na boca. – Do contrário nunca teria ido aos bastidores. – Você tem seu encanto em tão baixa conta? – Eu tenho sua noção de comportamento adequado em conta bem mais alta – foi a resposta seca. – Bem, você está certa sobre isso – admitiu Rohan. – Então, por que você foi? – Porque você é bonita... E... e eu estou solitário. – E você acha que dois corpos se chocando no escuro irão aliviar isso? – perguntou ela. Ele ficou constrangido de descobrir que tinha um nó na garganta. Engoliu o nó e tossiu. – Você está me fazendo uma proposta, minha jovem? – perguntou, esperando que seu tom fosse tão leve quanto as palavras. – Não. Você terá de fazer isso. Ainda me resta algum orgulho. Não muito, mas algum. – Você considera sua... Ahn... Profissão aviltante? – quis saber ele, e a expressão de desprezo e incredulidade dela foi cortante. Ele desviou daqueles olhos verdes que queimavam. – Bem, acho que você respondeu à pergunta. Sammy deu de ombros. – É essa sua religião oficial. As mulheres são madonas ou putas. – E você é qual? Foi a decisão certa. Ela abriu um sorriso de aprovação. – Qualquer que você queira. – Ah, duvido disso. Acho que você não é assim tão generosa – comentou Rohan. As bebidas chegaram. Ela ergueu a sua e sorriu para ele por sobre a borda do copo. – Para um aristo você não é nada idiota. – Obrigado. E para uma stripper você não é nada comum. Eles brindaram. Ela bebericou. De repente nervoso, ele virou o seu num só gole. – Ôa, devagar com isso, caballero. Do contrário terei de carregar você para fora daqui. – Meu motorista pode cuidar disso – falou Rohan. – Sim, mas ele não pode me fazer uma proposta – retrucou Sammy, pegando o cardápio. – Vamos pedir? Estou faminta.
Ela fazia amor tão bem quanto se despia. Rohan rolou de cima dela arfando e com um gemido. Tremores ainda sacudiam seu corpo. Ela se sentou, montou nele e tirou a cabeleira de cima do rosto. Passou um indicador pelo nariz dele, traçou a linha de seus lábios, acariciou seu pescoço e depois esfregou sua pança. Rohan tentou futilmente encolher a barriga. Ela riu do fundo da garganta, e Rohan sentiu seu pênis tentando reagir, depois desabando, derrotado. Ele a desejou muito no momento em que chegaram ao apartamento dela no meio de Stick Town, onde os flutes se reuniam. Ele arrancara as roupas dela e a jogara na cama. Depois, com dedos desajeitados, soltara as presilhas de sua camisa, arrancara o cinto, baixara o zíper, baixara as calças sobre os quadris e caíra nela. Tinha havido poucas preliminares. Ele estendeu a mão e tocou aquele rosto de menina. – Desculpe. Isso provavelmente não foi muito bom para você. – Estou certa de que haverá uma oportunidade para você me compensar – retrucou ela, e se inclinou para beijá-lo nos lábios. Ela tinha gosto de baunilha com um toque de tequila no fundo da língua. Ele passou as mãos sobre a virilha dela e parou quando seus dedos tocaram profundas cicatrizes retorcidas no pelo sedoso. Como não as sentira antes? Absorto demais em seu próprio prazer e nas sensações que percorriam seu corpo. Ela ficou paralisada e o encarou. – O quê? – ele começou. – Eu estava em Inshan – disse ela, e ele afastou as mãos rapidamente como se tivesse sido o responsável por ter usado a faca e arrancado seus ovários. – Claro que fui uma das com sorte. Esterilizada é melhor que morta. As palavras eram secas, objetivas. Ele se pegou inventando desculpas, repetindo a justificativa do partido. – Foram atos de um almirante demasiadamente zeloso. O governo nunca... Nós impedimos isso assim que tomamos conhecimento. – Mas não antes que 3.762 crianças fossem mortas. Você sabe quantas restaram? Ele olhou para ela, para o brilho de seus olhos, e balançou a cabeça.
– Duzentas e trinta e oito. – Você sabe o número exato? Era sem sentido, mas ele não conseguiu pensar em mais nada para dizer. – Ah, sim. – Como você... – Um dos seus soldados me salvou. Eu e algumas outras crianças. Ele protegeu a creche, atirou e matou outros soldados SpaceCom que não tinham tanta... hesitação. – Você acha que essa foi a única razão pela qual ele agiu? – perguntou Rohan. – Talvez ele soubesse que era bárbaro e imoral. Você não pode dar algum crédito a nós humanos? – Vocês humanos começaram com isso – respondeu ela, apertando os lábios, como se contendo mais palavras. Fez uma pausa, perdida em lembranças. – Mas talvez você esteja certo. Sempre fiquei pensando no que teria acontecido com ele. Seu governo o levou à corte marcial e o executou por se recusar a obedecer a uma ordem? Rohan não conseguiu continuar sustentando o olhar dela. Virou a cabeça no travesseiro, farejando o cheiro de lilás enquanto sua bochecha com barba por fazer raspava no material sedoso da fronha. – Não. Todos os soldados, e havia muitos deles – acrescentou, na defensiva –, que se recusaram a obedecer foram autorizados a se desligar da força sem punições. – Fico contente. Odiaria pensar que ele morreu por um gesto de misericórdia. Permaneceram em silêncio por um longo tempo. – Nenhum de vocês teria sofrido se os cara tivessem apenas seguido a lei. Sammy sorriu e correu um dedo pela base do nariz dele. – E se tivessem eu não estaria aqui e você não estaria deitado, saciado, em minha cama. Não havia resposta para isso. Ele lutou para se sentar a despeito da curva de sua barriga e a beijou. Ela facilitou deitando ao lado dele e embalando seu pau nas mãos. A cabeça dela estava sobre seu ombro, cabelo fazendo cócegas em seu queixo, o hálito quente em seu pescoço. – Você nos odeia? – perguntou ele, inseguro. – Que pergunta boba – respondeu ela, depois fazendo uma pausa. – Claro que odeio vocês. As palavras doeram como um soco. – Ah, não você pessoalmente. Os humanos em geral, sim. Você pessoalmente, não. Os humanos são maldosos, macacos violentos, e a galáxia ficaria muito melhor se vocês nunca tivessem se arrastado para fora de sua rocha, mas você parece ser legal. – Você é meio-humana. – O que significa que sou pelo menos meio malvada. Você deveria ter isso em mente – replicou, um risinho na voz. – Vou ter isso em mente – murmurou Rohan enquanto o sono caía sobre suas pálpebras, suave como flocos de neve. Ele repassou embriagadamente a noite, os passos rápidos dos pequenos pés arqueados dela, o movimento dos músculos em sua barriga. As lembranças do calor de sua pele pressionada sobre a dele fizeram seu pau endurecer novamente. Lembrou-se do brilho de luz de suas garras. O desconforto eliminou o estupor. – Aquilo eram luvas, certo? Quero dizer, as garras. Elas estavam costuradas em luvas. Houve uma alfinetada forte na pele macia de seu pênis. Ele abriu os olhos de repente e tentou olhar além do volume de sua barriga, inutilmente. Apoiou-se nos cotovelos, as alfinetadas se transformando em pontadas dolorosas. – Merda! – gritou ao ver as garras projetadas cravejadas de diodos. As pontas afiadas como navalhas pressionavam a pele rosada e enrugada de seu pênis, que murchava rapidamente. – Não. Elas são reais. Ele a encarou, muito assustado. Ela retraiu as garras, depois caiu sobre seu peito, cabelos espalhados como um manto sobre ambos. Ele tomou a mão dela na sua e examinou seus dedos, tentando ver como as garras eram retraídas. Notou que as polpas dos dedos eram totalmente suaves, mas então ela o beijou com força, a língua exigente, abrindo caminho por entre seus dentes. Sua ereção retornou, e tudo sobre suas mãos estranhas sumiu da sua cabeça. – Eu não vou machucá-lo, Han – murmurou ela junto à sua boca. – Isso eu posso prometer.
Tracy o encarou, perturbado. – Nós... SpaceCom... matamos... crianças? – Sim. Todas, a não ser um punhado – disse Rohan, enchendo novamente seu copo. – Eu não estava mentindo para Sammy, realmente começou com um almirante zeloso e intolerante. E algum bem saiu da repulsa que sacudiu a Liga assim que correram as notícias sobre o massacre. As leis sobre alienígenas foram um pouco relaxadas. – Por isso os cara desapareceram? – perguntou Tracy . – Sim. Dias depois do massacre eles tinham ido embora. Suas lojas vazias, os cargueiros abandonados à deriva e saqueados no espaço ou largados em diversas luas e asteroides, como se uma grande tempestade os tivesse apanhado e encalhado. Rohan olhou ao redor do bar com o cuidado exagerado dos profundamente bêbados. Ele se inclinou sobre a mesa e sussurrou, as palavras pronunciadas num hálito carregado de álcool. – Eles ainda poderiam estar ao nosso redor, e nem sequer saberíamos. Tracy sentiu um arrepio entre as omoplatas, como se olhos hostis ou alguma coisa mais letal apontasse para ele. – Isso é idiotice. O espaço é grande. Provavelmente apenas foram para algum outro lugar. Para ficar longe de nós. Voltaram para seu mundo natal. Nós nunca o encontramos. – No quê? Eles abandonaram suas naves. Tracy se pegou reavaliando os bebedores ensimesmados, o bartender jovial, a garçonete. Será que cada rosto escondia um ódio assassino? Rohan retomou sua história.
No aniversário de dois meses, Rohan deu a Sammy um colar de esmeraldas e ouro. Era uma coisa enorme, lembrando uma joia egípcia da Antiga Terra, e o pescoço esguio dela parecia curvar sob seu peso. Originalmente a comprara para Juliana, mas ela nunca a usara, desprezando-a como sendo vulgar e algo que esperaria de um comerciante novo-rico arrivista, não de um integrante das FFH. – Então, eu fico com os restos de sua esposa? – perguntou Sammy com um sorrisinho malicioso. – Não... Não é... Eu nunca... Sammy interrompeu as palavras gaguejadas com a mão macia sobre sua boca. – Não ligo. É bonito e bastante adequado. Eu fiquei com o marido dispensado dela. Eles estavam na pequena cabana de caça dele nas montanhas, desfrutando de uma neve rara. A única luz no quarto vinha das chamas que dançavam na lareira de pedra. Do lado de fora, o vento suspirava nas árvores como o choro triste de uma mulher. Sammy se sentou e trançou os dedos nos dele. – Por que você se casou com ela? Foi arranjado? Algum dia se importou com ela? – Eu fui um substituto. O noivo dela se perdeu com sua nave. Nada de corpos, nada de restos, apenas uma nave e sua tripulação desaparecida. Depois de um adequado período de luto, o pai dela abordou o meu pai. Eu era apenas um burocrata. Nunca seria igual ao encantador capitão SpaceCom de Juliana. – Fale sobre seu pai. Ele ainda é vivo? Horas se passaram. Ele contou sobre sua família, a propriedade no sistema estelar Grenadine. Suas irmãs. Seu irmão mais jovem. Seus passatempos, livros favoritos, preferências musicais. Ela fazia uma pergunta de vez em quando, mas principalmente escutava, cabeça pousada em seu ombro, mão acariciando seu peito. Ele falou sobre sua filha, Rohiesa, a única coisa boa que resultara do casamento. Ele se abriu para ela. Suas esperanças e seus sonhos, suas vergonhas secretas e seus desejos mais profundos. Ela nunca julgou, apenas escutou. Apenas o fogo parecia objetar com eventuais estalos agudos quando as chamas atingiam resina. Ao longo do mês seguinte, a necessidade que ele sentia de Sammy aumentou até o nível de um vício. Ele saía cedo do trabalho, voltava para casa ao alvorecer, quando voltava. As conversas continuavam. Ao contrário de Juliana, Sammy parecia interessada em suas teorias econômicas, bem como no nome de seu velho professor de esgrima. Certas noites ele não conseguia vê-la. Tinha de acompanhar Juliana e Rohiesa a diversas soirées. A última noite começara assim, no primeiro grande baile da temporada.
* * *
As paredes e o teto do enorme salão de baile da mansão de lorde Palani pareciam ter desaparecido, substituídos pelo brilho de estrelas e o rodopio multicolorido de nebulosas. O efeito era espetacular e completamente aterrorizante. Convidados agrupados perto do centro do salão, evitando o vazio aparente ao redor deles. Isso tornava dançar difícil para aqueles que de fato queriam dançar. Lady Palani estava furiosa, o que era evidenciado pelas narinas apertadas e os lábios contraídos. Uma das jovens senhoritas Palani estava às lágrimas. As fofocas do dia seguinte seriam tomadas por conversas sobre o desastre Palani. Rohan deu seu prato vazio a um empregado hajin de passagem e pegou uma taça de champanhe de outro. Seu anfitrião se aproximou, o rosto comprido caído em rugas ainda mais lúgubres. Rohan fez um gesto na direção do efeito holográfico. – É bastante... chocante. Palani tomou um longo gole de champanhe. – Um preço igualmente chocante, e todos estão aterrorizados. Mas elas insistiram – disse, balançando a cabeça tristemente. – Não há como dizer qual ideia louca tomará conta delas. Rohan interpretou isso como uma referência à lady Palani e às cinco filhas do casal. Também o fez recordar de uma conversa que tivera com Sammy apenas três dias antes. Eles estavam caminhando pelo jardim botânico real, Sammy parando com frequência para tocar e cheirar as flores. Ele adorava olhar para ela: cada gesto era um soneto, cada passo, uma canção. Ela tinha acariciado as pétalas de uma rosa e se virado para ele. Estavam de braços dados, e enquanto caminhavam ela mencionou de passagem que a filha de um amigo estava internada numa clínica discreta depois de um colapso bastante público e constrangedor num piquenique no Dia do Fundador . Ela erguera os olhos para ele, o brilho de volta àquele olhar estranho. “Está surpreso? Vocês mantêm suas mulheres confinadas e negam a elas qualquer tipo de atividade significativa. Fico surpresa que não enlouqueçam mais mulheres. Vocês não lhes dão nada para pensar ou do que falar além de família e fofocas. Nunca as deixam fazer nada além de planejar ou comparecer a festas, administrar a casa e criar filhos.” “Essa é uma programação que mataria a maioria dos homens”, Rohan tinha dito numa tentativa tacanha de humor . “Provando que vocês são o sexo forte, Sammy.” “Na Terra, antes da Expansão, as mulheres eram advogadas, médicas, soldados, presidentes e capitãs de indústria.” “E o espaço é hostil e a maioria dos planetas, difíceis e perigosos de colonizar . As mulheres são nosso bem mais precioso. Os homens podem produzir um milhão de espermatozoides, mas é preciso uma mulher para gestar e parir uma criança.” A voz de Rohan se elevara e ele ficara sem fôlego. Ficou pensando em sua própria veemência e na defesa do sistema. E por que ele puxara o assunto da filha de De Varga? Porque temia por sua própria Rohiesa? “E aqueles dias acabaram. Seu conservadorismo será a morte da Liga, Han. Os cara estavam certos sobre uma coisa. Adapte-se e mude... ou morra.” – Rohan? – O quê? Ah, peço perdão. Estava divagando. – Eu só estava pensando sobre os números da inflação – repetiu Palani. – Feios, mas não vamos estragar a noite com essa conversa – disse Rohan, e se afastou. Ele arriscou uma espiada sub-reptícia no conjunto crono na manga de seu smoking. “Quarenta minutos.” Parecia que estava lá havia uma eternidade. Apenas um pouco mais e poderia escapulir e se juntar a Sammy na festa de rua em Pony Town. Imaginou os cheiros fortes de chile e carnes tostando, música passional tocada por artistas de rua, corpos se movendo em entrega selvagem à batida primal e aos acordes de violões. A música imaginada se chocava com a música de dança adorável, mas formal, oferecida pela orquestra escondida num nicho acima. Rohan pousou sua taça de champanhe e foi na direção da porta. Para o inferno com tudo aquilo, ele não podia esperar mais. Juliana o interceptou. As lantejoulas costuradas à mão de seu vestido justo cintilavam quando ela se movia, em conjunto com o brilho dos diamantes presos em seus cachos escuros. – Você não está indo embora, está? – Ahn... Sim. – Vai me trocar por aquela piranha? – perguntou, a voz se elevando, as palavras começando a superar os acordes formais da música. – Do que você está falando? – reagiu ele, sabendo que não iria funcionar. Era um péssimo mentiroso. Apelou para a súplica. – Por Deus, não faça uma cena. – Por que não? Você está se transformando em chacota com essa puta alienígena. – Como... – A esposa de Bret soube por ele. Ela contou à mãe. Está correndo por todo Campo Royale, e você é motivo de riso. – Você já garantiu isso com seu desfile de amantes! – retrucou ele, finalmente dizendo em voz alta o que tinha permanecido entre eles e causado tanta dor. – Pelo menos os meus são humanos. As pessoas estavam começando a encarar. Rohan olhou para os rostos perplexos, os empregados de pés suaves, as roupas elaboradas. Tiras metálicas pareciam se apertar ao redor dele, prendendo-o com firmeza. O choro dos violões nas ruas da Cidade Velha parecia fraco e distante. – Não – disse ele, sem saber exatamente o que estava rejeitando, mas rejeitando mesmo assim. Ele ouviu Juliana gritando imprecações às suas costas enquanto descia trotando a escadaria curva de cristal.
Ele a encontrou na rua em meio às barracas enfeitadas com fitas que vendiam joias e cerâmicas, perfumes e echarpes. O rugido das vozes se fundia à música; gordura chiava quando as carnes caíam na grelha de madeira. Ele se colou em Sammy e enfiou a cabeça em seu ombro. Ela acariciou o cabelo dele com uma mão delicada. – O que aconteceu? – Juliana sabe. Todos sabem. Eles me obrigarão a abrir mão de você – falou, e engasgou. – E eu não posso. Não posso. – Venha – pediu ela, e, tomando sua mão, guiou-o por entre a multidão animada em que humanos e alienígenas podiam dançar e festejar juntos, talvez até mesmo se apaixonar. Ela o levou ao seu apartamento. Preparou uma bebida. Ele bebeu de uma vez, apenas depois se dando conta de que tinha um gosto estranho. A sala começou a inchar e se afastar ao redor dele. – Lamento, Han. Gostaria de poder ter mais algum tempo juntos. A voz dela parecia ecoar e vir de uma distância enorme. Depois foi a escuridão. O primeiro retorno à consciência trouxe com ele uma noção do frio de uma superfície metálica sobre costas nuas, nádegas e pernas. Ele sabia que estava nu e com frio, e que a náusea revirava suas entranhas. Sentiu mãos enluvadas pressionando seus braços e a picada de uma agulha, depois a voz de Sammy murmurando palavras calmantes e sua mão acariciando o cabelo dele. Ele mergulhou novamente na escuridão. Um ponto brilhante de luz em seu olho foi a lembrança seguinte. A luz passou do olho direito para o esquerdo e foi desligada. Círculos concêntricos azuis e vermelhos obscureceram sua visão enquanto ele tentava ter uma visão clara após ser quase cegado. A isso se seguiu uma pressão dura sobre as pontas dos dedos. Outra picada de agulha e ele apagou mais uma vez. Quando acordou estava no apartamento de Sammy, deitado numa cama sem colchão, lençóis ou cobertas. Levantou da cama cambaleando e ficou de pé, oscilando, no meio do quarto. Seus olhos pareciam ressecados; lembranças desarticuladas voltaram aos poucos. Ele olhou para a dobra do cotovelo. Havia um pequeno ponto vermelho como a mordida de um inseto de aço. Suas roupas estavam jogadas numa cadeira no canto do quarto. Ele procurou nos bolsos e os encontrou vazios. Chaves, carteira e comu tinham sumido. Até mesmo seu pente e o lenço com monograma foram levados. – Só uma piranha ladra – constatou ele, testando as palavras, depois se encolheu com os sons desconhecidos que saíam de sua garganta. Ele tinha passado de barítono para um baixo profundo. Sua garganta doía e sua boca era um deserto seco. Por isso ele soava tão estranho. Uma pressão na bexiga o mandou ao banheiro. Enquanto se aliviava, começou a se dar conta. Todos os vestígios de Sammy sumiram. Nada de escova de dentes, nada de escova de cabelos, nada de maquiagem, nem mesmo o delicado frasco de perfume que lhe dera – tudo desaparecido. Mas se não tinha sido nada mais que um golpe, por que esperara tantos meses e passara por tantos encontros antes de roubá-lo? Ele cambaleou até a pia para lavar as mãos e o rosto, e se recuou da imagem no espelho.
Um estranho olhava para ele. Os olhos assustados que o encaravam eram então cinza-claros. O cabelo escuro e liso, em vez de avermelhado e cacheado. Sua testa era muito mais alta, porque aquele cabelo estranho parecia estar recuando para o lado de trás de seu pescoço. Seu tom de pele era mais escuro. Nariz mais largo e bulboso na ponta. Orelhas mais coladas ao crânio. Suas orelhas verdadeiras eram bastante protuberantes. Ele olhou para baixo. Sua barriga era maior, e a marca de nascença no quadril esquerdo tinha sumido. Ele cambaleou de volta ao vaso e vomitou até estar reduzido a ânsias secas. Gemendo, retornou à pia, enxaguou a boca e engoliu água. Depois olhou para as mãos. Sua aliança e o pesado anel de sinete com o brasão da família tinham sumido. Suas entranhas reviraram novamente, mas ele conseguiu não vomitar. De volta ao quarto, pegou suas roupas com mãos trêmulas e começou a se vestir. Por causa do aumento de peso, não conseguiu fechar a presilha das calças, e os botões forçados de sua camisa esgarçaram o suficiente para revelar a pele. Saiu do quarto e descobriu que a sala de estar estava igualmente sem qualquer vestígio do ocupante. Por impulso, verificou a cozinha. Todos os pratos, utensílios e comida também sumiram. Naquele aposento ele ficou mais consciente de um leve cheiro de desinfetante, como se todas as superfícies tivessem sido limpas com alvejante. Desceu a escada e saiu para a rua, onde parou, piscando à luz do sol. Tinha perdido uma noite. Depois se deu conta do calor e da umidade na cabeça e nos ombros. Suor brotou em suas axilas e escorreu pela lateral do corpo. Era pleno verão. Quando ele fora procurar Sammy na noite do baile era uma fresca noite de outono. Bom Deus, ele tinha perdido meses! Precisava ir para casa. Mas como fazer aquela jornada era algo monumental. Sem dinheiro, sem comu, sem provas de que era quem dizia ser. Nem sequer um rosto. Avaliou que devia haver por volta de trinta quilômetros entre Pony Town e Cascades e sua mansão. Não achava ser capaz de caminhar um quilômetro e meio, muito menos trinta. Mas não saberia até que tentasse. Ele se afastou do prédio. Tentou não fazer isso, mas olhou para trás diversas vezes até o reboco cor de salmão estar escondido por outras estruturas. Duas horas depois seus pés eram uma massa de dor lancinante e ele sentia a umidade de uma bolha estourada. Viu o escudo iluminado que indicava uma delegacia de polícia e se deu conta de que era um idiota. Ele havia sido sequestrado, agredido, modificado cirurgicamente. A polícia iria ajudá-lo. Eles ligariam para sua casa. Hobb chegaria com o veículo e ele seria levado para longe de tudo aquilo. E seria dado o alerta para Sammy. Rohan engoliu bile. Era uma infelicidade, mas necessário. A criatura não merecia menos que isso. Entrou na delegacia. – Quero registrar um crime – anunciou ao sargento na recepção. O homem nem ergueu os olhos, simplesmente empurrou um ETablet. – Escreva. Traga de volta quando tiver terminado. Quando ele deu seu nome e título com seu sotaque aristocrático, o homem ficou muito mais atento. Seus olhos se estreitaram, desconfiados, enquanto estudava as roupas mal-ajambradas, mas o sargento ofereceu café e água. Seria melhor não ofender caso Rohan realmente fosse um membro das FFH. Aplacado, Rohan se acomodou numa cadeira e digitou suas experiências. As bebidas foram trazidas e o sargento na recepção enviou o relatório a seus superiores. Alguns minutos depois chegou um capitão. Subiu ao tablado diante de Rohan e falou por cima do ombro para o funcionário no balcão. – Você não acompanha política, não é mesmo, Johnson? Este não é o chanceler. – Como indiquei em meu relato, minha aparência foi alterada – avisou Rohan. – E acabei de falar com o gabinete do chanceler. Segundo John Fujasaki, ajudante do chanceler, o conde está numa reunião com o primeiro-ministro. Agora saia daqui e tente dar seu golpe em algum outro lugar. Rohan ficou olhando para o oficial, tentando processar as palavras. Sua remoção foi levada a cabo com a chegada de dois policiais corpulentos, que o escoltaram para fora do prédio. O pânico se instalou como uma pedra em seu peito. Rohan lutou para respirar. Ficou de pé na calçada, bloqueando o fluxo da humanidade e olhando para a delegacia. Retomou sua lenta caminhada para casa. Estava recebendo olhares estranhos por causa de seu traje noturno formal pequeno demais no meio do dia, e seu avanço manco não ajudava. Um mensageiro hajin lançou um olhar simpático. Rohan reuniu coragem e abordou o alienígena. – Desculpe-me. Eu fui roubado e preciso dar um telefonema. Poderia usar seu comu? Se me der seu nome farei com que seja recompensado assim que tiver acesso a meus recursos. O hajin lhe deu o comu. – Claro – disse a criatura, baixando a cabeça, sua franja escondendo os olhos. – E você não precisa me pagar. A súbita gentileza em meio ao pesadelo levou lágrimas aos seus olhos. – Obrigado – falou Rohan, forçando as palavras pelo nó em sua garganta. Pegou o comu oferecido e ligou para seu número particular no Tesouro. John atendeu. – Escritório do chanceler, Fujasaki falando. – John, John, escute. Estou num pesadelo. Eu acho... – Quem está falando? – É Rohan. Sei que parece incrível... A linha ficou muda. Anestesiado, Rohan devolveu o comu ao hajin. – Obrigado – disse automaticamente. Sempre se devia mostrar respeito para com os inferiores. Ele se virou e continuou a andar.
Em casa, sequer tentou explicar a situação ao mordomo. Em vez disso empurrou o hajin idoso de lado e subiu correndo, ofegante, a comprida escadaria em curva. Atrás dele se elevavam gritos alarmados. Passou correndo pelo quarto de vestir espelhado e incrustado de ouro de Juliana. Sua empregada isanjo apertou sobre o peito um vestido de baile descartado e olhou para Rohan com olhos arregalados e assustados. – Onde ela está? Onde está minha esposa? A criatura voltou à sua natureza selvagem, e subiu apressadamente as cortinas para se encolher no suporte. Os grandes olhos dourados viraram na direção da porta do quarto. Rohan passou violentamente por ela. Foi recebido pela visão de grandes costas brancas nuas, algumas sardas nos ombros. O homem se ergueu, apoiandose nos antebraços, seu traseiro gordo oscilando numa antiga dança. Os gritos suaves de uma mulher se elevaram entre os travesseiros tombados. Juliana abriu os olhos, olhou para Rohan e soltou um berro. O homem que estava oscilando por cima dela deu um grunhido e saiu. – Mas que porra? – rugiu ele, e então Rohan finalmente viu seu rosto. Era ele.
– As autoridades chegaram e levaram embora o louco. Continuei tentando fazer com que entendessem. Que se dessem conta de que os cara colocaram um agente no próprio coração do governo. Ninguém me escutou. Mostrei a eles matérias que provavam o que o impostor estava fazendo, enviando dinheiro para empresas que eu sabia que eram fachadas para os alienígenas. Uma auditoria teria revelado quais fundos estavam faltando, tendo sido redirecionados, mas não me escutaram. Eu me dei conta de que, se queria ser um dia liberado, teria de encerrar minhas acusações. Também sabia que no sanatório eu corria um risco muito maior de ser assassinado. Eu precisava ser libertado. Assim que fui solto parti para os mundos exteriores. Aqui eu conto a história a pessoas como você – falou Rohan, e se colocou de pé, instável. – Eu sou Rohan Danilo Marcus Aubrey, conde de Vargas, e o conclamo a agir! Informe seus superiores. Alerte-os para o perigo! Ele pareceu ter esgotado toda a sua força no empolgado brado às armas. O bêbado despencou pesadamente em sua cadeira e sua cabeça tombou sobre o peito. Enojado com a sua inocência e tendo investido o custo de uma garrafa, Tracy se afastou da mesa. O guincho das pernas da cadeira no piso tirou Rohan, ou qualquer que fosse seu nome, de seu estupor. O bêbado arrotou e ergueu a cabeça. – O qu... – Bonito. Um belo golpe. Ele – comentou Tracy, apontando com o polegar para o bartender – vende mais álcool, e você bebe de graça. – O qu... – repetiu o pilantra. – O conde de Vargas é primeiro-ministro. Segundo em poder, atrás apenas do imperador – Tracy teclava o nome no comu na manga do paletó. – Este é o verdadeiro Rohan – falou, enfiando o braço sob o nariz do homem, lhe mostrando as fotos. Ele moveu a mão gorda num círculo indistinto, indicando seu rosto. – Eu lhe disse. Eles roubaram meu rosto, minha vida... Minha esposa... Ele fez com que ela o amasse de novo, ou talvez o amasse pela primeira vez. Tracy balançou a cabeça e foi na direção da porta.
– Espere! – chamou o bêbado. O jovem oficial olhou para trás e a sheerazade ébria lançou um olhar desesperado para Tracy. – Seus deveres o levarão por todo o espaço da Liga. Se você a vir, diga a ela... Diga a ela... A voz dele estava densa com lágrimas não derramadas e um excesso de álcool. – Eu nunca vi Sammy novamente, e preciso... Preciso... – continuou o homem, começando a soluçar. – Eu a amo. Eu a amo muito – concluiu Rohan, alquebrado. Constrangimento, pena e fúria disputavam a primazia. Tracy escolheu a raiva. Batendo palmas lentamente, ele disse: – Belo toque final. O jovem oficial saiu para a escuridão. O ar frio clareou um pouco sua cabeça, mas ele ainda estava muito bêbado. Olhou para o brilho distante do espaçoporto. Cumprir sua ameaça? Desertar? Ele tinha apenas 21 anos. Valeria a pena arriscar a forca para fugir de insultos descuidados e paternalismo desprezível? E se deu conta de que poderia muito facilmente se tornar aquele bêbado patético no bar, contando histórias fantásticas pelo preço de um drinque. “Eu salvei a herdeira do trono de um escândalo que poderia ter abalado a Liga. Partilhamos um amor secreto. Eu sei que Mercedes de Arango, a infanta, ama a mim, o filho do alfaiate.” Mas a sua história era verdadeira, não como aquela coisa que ele acabara de escutar. “E a sua história é menos fantástica?” Não, a de Rohan – ou qualquer que fosse o nome – não podia ser verdade. Se fosse, então ele, Tracy Belmanor, segundo-tenente da Frota Imperial, conhecia um segredo que podia não apenas abalar a Liga, mas destruí-la. Olhou desconfiado para as profundezas escuras do beco à sua esquerda e não viu nada além da grande sombra de uma caçamba de lixo. Mas e se estivessem ali, escondidos em meio a eles, observando, esperando, escutando? E se decidissem que precisavam silenciá-lo? Tracy começou a correr e não parou até ter chegado à nave. A escotilha externa se fechou e ele se apoiou, ofegante, no anteparo. Do lado de dentro de uma nave de guerra de aço e resina seu pânico diminuiu. Que tolice. A coisa toda havia sido um golpe. Sammy não existia. Os cara não estavam se escondendo em meio a eles. Os machos humanos ainda estavam no auge do poder. Havia sido apenas uma história.
* * *
A
JIM BUTCHER
utor best-seller do New York Times, é mais conhecido pela série “Dresden Files”, cujo protagonista, Harry Dresden, é um mago de aluguel que se mete em algumas ruas bastante perigosas para combater as criaturas más do mundo sobrenatural, um dos personagens ficcionais mais populares do século XXI até agora; ele tinha até mesmo seu próprio programa de TV. Entre os livros da “Dresden Files” estão Storm Front, Fool Moon, Grave Peril, Summer Knight, Death Masks, Blood Rites, Dead Beat, Proven Guilty, White Night, Small Favor, Turn Coat e Changes. Butcher também é o autor da movimentada série de feitiçaria e espada “Codex Alera”, composta de Furies of Calderon, Academ’s Fury, Cursor’s Fury, Captain’s Fury e Princeps’ Fury. Seus livros mais recentes são First Lord’s Fury, nova obra da “Codex Alera”, e Ghost Story, um romance da “Dresden Files”. Há também uma coletânea de contos estrelados por Harry Dresden, Side Jobs: Stories from the Dresden Files. Aguarda lançamento de um novo romance “Dresden Files”, Cold Days. Mora com a esposa, o filho e um feroz cão de guarda. Ele chocou a todos matando Harry Dresden no final de Changes. (O próximo romance, Ghost Story, é contado do ponto de vista do fantasma de Harry!) Aqui a jovem protegida de Harry, tentando levar à frente a luta contra as forças da escuridão sem ele, descobre que ele ocupava um espaço muito grande, e que é melhor ela ocupá-lo rápido – ou morrerá.
.
.
EXPLOSIVAS
Sinto falta do meu chefe. Já se passou quase um ano desde que o ajudei a morrer, e até o momento tenho sido a única maga profissional na cidade de Chicago. Bem, certo. Eu não sou tipo oficialmente uma maga. Ainda sou uma espécie de aprendiz. E ninguém me paga de verdade, a não ser que você leve em conta as carteiras e os objetos de valor que às vezes tiro dos corpos. Então acho que sou mais uma amadora que uma profissional. E não tenho licença de investigadora particular como meu chefe tinha, nem um anúncio na lista telefônica. Mas sou tudo o que há. Não sou tão forte quanto ele era, nem sou tão boa quanto ele era. Apenas terei de ser o suficiente. De qualquer modo, lá estava eu, enxaguando o sangue no chuveiro de Waldo Butters. Eu vivia muito ao ar livre naqueles dias, o que não era de modo algum tão horrível no verão e começo do outono quanto fora no frio ártico do super-inverno anterior. Em comparação, era como dormir numa praia tropical. Ainda assim sentia falta de coisas como acesso regular a água encanada, e Waldo deixava que me limpasse sempre que precisava. Estava com o aquecedor do chuveiro no máximo, e era um paraíso. Era meio que um flagelo, um paraíso flagelante, mas ainda assim um paraíso. O piso do chuveiro ficou vermelho por alguns segundos, depois desbotou para rosa enquanto eu lavava o sangue. Não era meu. Uma gangue de servos de fomor estava carregando um garoto de 15 anos por um beco na direção do lago Michigan. Se tivessem chegado lá ele teria enfrentado um destino pior que a morte. Eu interferi, mas aquele desgraçado do Listen preferiu cortar a garganta do menino em vez de desistir. Tentei salvá-lo enquanto Listen e seus comparsas corriam. Fracassei. E fiquei lá com o garoto, sentindo tudo o que ele sentia, sua confusão, sua dor e seu terror, enquanto morria. Harry não teria se sentido assim. Ele teria salvado o dia. Teria esmagado os comparsas de fomor como pinos de boliche, pegado o garoto como uma espécie de herói de filme de ação e o colocado em segurança. Eu sentia falta do meu chefe. Usei muito sabonete. Provavelmente chorei. Comecei a ignorar as lágrimas meses atrás, e às vezes, para ser honesta, não sabia quando estavam correndo. Assim que fiquei limpa – pelo menos fisicamente –, fiquei ali me encharcando de calor, deixando a água correr por cima de mim. A cicatriz do tiro que levei na perna ainda estava enrugada, mas a cor passara de roxo para vermelho e depois um rosa raivoso. Butters disse que sumiria em dois anos. Eu voltei a andar normalmente, a não ser quando forçava demais. Mas, poxa, minhas pernas e várias partes precisavam se reacostumar com uma lâmina descartável, mesmo com pelos louros meio claros.
Eu ia ignorá-los, mas... cuidar da aparência é importante para manter o espírito elevado. Um corpo bem cuidado para uma mente bem cuidada e tudo mais. Eu não era idiota. Sabia que não estava na minha melhor forma. Meu moral precisava de todo estímulo que pudesse ter. Eu me inclinei para fora do chuveiro e peguei o depilador rosa de plástico de Andi. Depois indenizaria a namorada lobisomem de Waldo. Terminei mais ou menos ao mesmo tempo que a água quente acabou, saí do chuveiro e me sequei. Minhas coisas estavam numa pilha junto à porta – Birkenstocks de venda de garagem, uma velha mochila de nylon de excursionista e minhas roupas ensanguentadas. Outra muda perdida. E as sandálias tinham deixado trilhas parciais no local, então eu também teria de me livrar delas. Nesse ritmo seria obrigada a invadir outra loja de roupas usadas. Normalmente isso teria me animado, mas fazer compras não era mais o que costumava ser. Estava examinando com cuidado a banheira e o piso em busca de pelos caídos e tudo mais quando alguém bateu na porta. Não parei de examinar o chão. No meu trabalho as pessoas podem fazer e farão coisas medonhas com restos de seu corpo deixados para trás. Não fazer a limpeza é como pedir a alguém para ferver seu sangue a vinte quarteirões de distância. Não, obrigada. – Sim? – falei. – Oi, Molly – disse Waldo. – Há, ahn... Há alguém aqui querendo falar com você. Nós havíamos combinado antecipadamente muitas coisas. Se ele usasse a palavra “sensação” em algum momento da frase eu saberia que havia problemas do lado de fora da porta. Não usar significava que não havia – ou que ele não conseguia perceber perigo algum. Coloquei os braceletes e meu anel e deixei minhas duas varinhas onde pudesse pegar instantaneamente. Só então comecei a me vestir. – Quem? – perguntei. Ele estava se esforçando muito para não soar nervoso perto de mim. Eu apreciava seu esforço. Era algo doce. – Diz que seu nome é Justine. Diz que você a conhece. Eu conhecia Justine. Ela era uma serva dos vampiros da Corte Branca. Ou pelo menos assistente pessoal de um e namorada de outro. Harry sempre a tivera em boa conta, embora fosse um grande idiota no que dizia respeito a mulheres que poderiam ter o potencial de ser donzelas em apuros. – Mas se ele estivesse aqui a ajudaria – murmurei para mim mesma. Não limpei o vapor do espelho antes de sair do banheiro. Não queria olhar para nada ali.
Justine era alguns anos mais velha que eu, mas seu cabelo tinha ficado branco. Ela era fantástica, uma daquelas garotas que os meninos supõem ser bonitas demais para abordar. Vestia jeans e uma camisa de botões vários números maior que o dela. A camisa era de Thomas, eu tinha certeza. Sua linguagem corporal era simulada, muito neutra. Justine era tão boa em esconder suas emoções quanto qualquer um que eu já vira, mas podia sentir uma tensão contida e um medo silencioso sob a superfície serena. Eu sou uma maga, ou alguma maldita coisa parecida com isso, e trabalho com a mente. As pessoas não conseguem esconder coisas de mim. Se Justine estava com medo era porque temia por Thomas. Se ela tinha ido me pedir ajuda era porque não podia conseguir ajuda com a Corte Branca. Poderíamos ter uma conversa educada que levasse a essa revelação, mas nos últimos tempos eu tinha cada vez menos paciência para amenidades, então fui direto ao ponto. – Olá, Justine. Por que deveria ajudá-la com Thomas quando a própria família dele não fará isso? Justine arregalou os olhos. Assim como Waldo. Eu estava me acostumando a essa reação. – Como você sabia? – perguntou Justine em voz baixa. Quando você entende de magia, as pessoas sempre imaginam que qualquer coisa que você faça deve ter uma ligação com isso. Harry sempre achou isso engraçado. Para ele, a magia era apenas mais um conjunto de ferramentas que a mente podia usar para solucionar problemas. A mente era a parte mais importante dessa equação. – Isso tem importância? Ela franziu o cenho e desviou os olhos de mim. Balançou a cabeça. – Ele está desaparecido. Sei que saiu em algum tipo de missão para Lara, mas ela diz que não sabe nada sobre isso. Está mentindo. – Ela é uma vampira. E você não respondeu à minha primeira pergunta – falei. As palavras saíram um pouco mais secas e duras do que tinham soado em minha cabeça. Tentei relaxar um pouco. Cruzei os braços e me apoiei numa parede. – Por que deveria ajudá-la? Não é que planejasse não ajudá-la. Mas eu conhecia um segredo sobre Harry e Thomas que poucos outros sabiam. Eu precisava descobrir se Justine também sabia o segredo ou se teria de mantê-lo escondido dela. Justine me olhou nos olhos por um momento. O olhar era penetrante. – Se você não pode pedir ajuda à família, a quem poderá apelar? – respondeu ela. Desviei os olhos antes que aquilo pudesse se transformar em um exame de alma, mas as palavras dela e a impressão geral de sua postura, sua presença, seu eu responderam à pergunta. Ela sabia. Thomas e Harry eram meio-irmãos. Ela teria pedido ajuda a Harry caso estivesse vivo. Eu era a única coisa vagamente parecida com uma herdeira de seu poder por ali, e ela esperava que estivesse disposta a fazer o mesmo que Harry. – Aos amigos – sussurrei. – Vou precisar de alguma coisa de Thomas. Cabelos ou unhas cortadas seriam... Ela tirou do bolso do peito da camisa uma bolsa plástica com fecho e estendeu para mim sem uma palavra. Eu me adiantei e peguei. Tinha alguns cabelos escuros dentro. – Tem certeza de que são dele?
Justine apontou para a própria cabeleira branca como a neve. – Não é exatamente fácil de confundir. Ergui os olhos e descobri Butters me encarando em silêncio do outro lado da sala. Era um carinha narigudo, magro e rápido. Seus cabelos tinham sido eletrocutados e depois congelados daquele jeito. Os olhos eram firmes e preocupados. Ele cortava cadáveres para o governo, profissionalmente, mas era uma das pessoas mais informadas na cidade no que dizia respeito ao sobrenatural. – O que é? – perguntei. Ele estudou as palavras antes de falar – menos por ter medo de mim do que por não querer ferir meus sentimentos. Era o oposto da maioria das pessoas naqueles dias. – Isso é algo no que você deveria se envolver, Molly? O que ele queria me perguntar era se eu estava sã. Se iria ajudar ou apenas piorar muito as coisas. – Não sei – respondi honestamente. Olhei para Justine e falei: – Espere aqui. Depois peguei minhas coisas, os fios de cabelo e saí.
A primeira coisa que Harry Dresden me ensinou sobre magia foi um feitiço de rastreamento. – É um princípio simples, garota. Estamos criando uma ligação entre duas coisas semelhantes com energia. Depois fazemos com que a energia nos dê alguma espécie de indicador, para que possamos saber em que direção está fluindo. – O que vamos encontrar? – perguntei. Ele ergueu um pelo grisalho bastante grosso e apontou na direção de seu cachorro, Mouse. Ele deveria se chamar Moose. O gigantesco mastim tibetano peludo era do tamanho de um alce. – Mouse – disse Harry. – Suma e vamos ver se conseguimos encontrá-lo. O grande cachorro bocejou e caminhou simpaticamente até a porta. Harry o deixou sair e então foi se sentar junto a mim. Estávamos na sala de estar. Duas noites antes eu me jogara sobre ele. Nua. E ele virara uma jarra de água gelada em minha cabeça. Eu ainda estava mortificada, mas ele estava certo. Era a coisa certa a fazer. Ele sempre fazia a coisa certa, mesmo que isso significasse sair perdendo. Eu ainda queria muito ficar com ele, mas talvez ainda não fosse o momento certo. Tudo bem. Eu podia ser paciente. E ainda queria ficar com ele de um modo diferente quase todos os dias. – Certo – falei quando ele se sentou. – O que faço?
* * *
Desde aquele dia, o feitiço se tornara rotina ao longo dos anos seguintes. Eu o usava para encontrar pessoas perdidas, lugares secretos, meias sumidas e em geral para meter meu nariz onde provavelmente não era chamada. Harry teria dito que isso fazia parte de ser um mago. Ele estava certo. Parei no beco diante do apartamento de Butters e desenhei um círculo no concreto com um pequeno pedaço de giz cor-de-rosa. Fechei o círculo com pouca força de vontade, tirei um dos fios da bolsa plástica e o ergui. Concentrei a energia do feitiço, juntando seus diferentes elementos em minha cabeça. Quando começamos, Harry me deixara usar quatro objetos diferentes, me ensinando como ligar ideias a eles, para representar as distintas peças do feitiço, mas aquele tipo de coisa não era necessário. A mágica inteira acontece dentro da cabeça do mago. Você pode usar elementos cenográficos para simplificar as coisas, e em feitiços complexos eles fazem toda a diferença entre o impossível e o meramente quase impossível. Mas para aquele eu não precisava mais dos elementos cenográficos. Juntei as diferentes partes do feitiço em minha cabeça, uni-as, dotei-as de uma moderada força de vontade e então, com uma palavra murmurada, liberei aquela energia no fio em meus dedos. Depois, coloquei o pelo em minha boca, rompi o círculo de giz raspando o pé e me levantei. Harry sempre usava um objeto como indicador em seus feitiços de rastreamento – seu amuleto, uma bússola ou algum tipo de pêndulo. Eu não quis ferir os sentimentos dele, mas esse tipo de coisa também não era realmente necessário. Eu podia sentir a magia passando pelo fio, fazendo cócegas suaves em meus lábios. Peguei uma bússola de plástico barata e uma linha de giz de três metros. Eu a dispus e estalei para marcar o norte magnético. Depois peguei a extremidade solta da linha e virei lentamente, até que a sensação de formigamento estivesse centrada em meus lábios. Lábios geralmente são partes do corpo muito sensíveis, e descobri que lhe dão a melhor resposta tátil para esse tipo de coisa. Assim que soube em qual direção Thomas estava, orientei a linha de giz para esse rumo, me assegurei de que estava firme e estalei novamente, produzindo uma forma de V extremamente alongada, como a ponta de uma agulha gigantesca. Medi a distância na base do V. Depois virei noventa graus, caminhei quinhentos passos e repeti o processo. Prometa que não vai contar ao meu professor de matemática do ensino médio, mas depois disso me sentei e apliquei a trigonometria à vida real. A matemática não era difícil. Eu tinha os dois ângulos medidos em relação ao norte magnético. Tinha a distância entre eles em unidades de passos de Molly. Passos de Molly não são muito científicos, mas para os objetivos daquela aplicação em particular eles eram suficientemente práticos para calcular a distância até Thomas. Usando essas ferramentas simples eu não podia ter uma medida precisa o suficiente a ponto de saber qual porta derrubar, mas sabia então que ele estava relativamente perto – num raio de seis ou oito quilômetros, em oposição ao Polo Norte ou algo assim. Eu me desloco muito pela cidade, pois um alvo móvel é muito mais difícil de encontrar. Provavelmente percorria três ou quatro vezes mais que isso em um dia comum. Teria de chegar muito mais perto antes de poder definir sua localização com mais precisão. Então, virei meus lábios na direção do formigamento e comecei a caminhar.
Thomas estava em um pequeno prédio de escritórios em um grande terreno. O prédio tinha três andares, não era enorme, embora estivesse em meio a estruturas muito maiores. O lote que ocupava era grande o bastante para conter algo muito maior. Em vez disso, a maior parte era ocupada por gramado e jardim impecáveis, com direito a fontes e uma cerca de ferro forjado muito pequena e modesta. O prédio em si tinha muita pedra e mármore em seu projeto, e havia mais classe em suas cornijas que as torres próximas tinham na estrutura inteira. Era ao mesmo tempo grandioso e modesto; naquele quarteirão parecia um único pequeno diamante perfeito exposto em meio a potes gigantescos de pedras artificiais. Não havia placas do lado de fora. Não havia uma entrada evidente além de um conjunto de portões protegidos por homens de ternos escuros e aparência competente. Ternos escuros caros. Se os guardas podiam vestir aquilo para trabalhar significava que o dono daquele prédio tinha dinheiro. Muito dinheiro. Contornei o prédio para ter certeza e senti a energia do feitiço de rastreamento confirmar a localização de Thomas; mas embora tivesse tido o cuidado de ficar no lado mais distante da rua, alguém do lado de dentro me notou. Podia sentir os olhos de um guarda me acompanhando, mesmo por trás dos óculos escuros. Talvez devesse ter feito a aproximação inicial sob um véu – mas Harry sempre fora contra usar magia a não ser quando verdadeiramente necessário, e era fácil demais começar a usá-la para todas as coisinhas caso você se permitisse. De certa forma, sou melhor com o “como” da magia do que Harry. Mas aprendi que posso não ser tão inteligente quanto ele no que diz respeito ao “por quê”. Entrei numa Starbucks próxima, comprei um copo de vida líquida e comecei a pensar em como entrar. Minha língua estava me dizendo tudo sobre como eu tinha uma grande capacidade de julgamento quando senti a presença de poder sobrenatural se aproximando rapidamente. Não entrei em pânico. O pânico mata você. Em vez disso, me virei suavemente sobre um calcanhar e saí por um corredor curto que levava a um pequeno banheiro. Entrei, fechei a porta atrás de mim e tirei as varinhas do bolso. Verifiquei o nível de energia em meus braceletes. Ambos estavam prontos para serem usados. Meus anéis também estavam totalmente carregados, o que era o mais próximo do ideal que as coisas poderiam estar. Então organizei os pensamentos, sussurrei uma palavra e desapareci. Véus são magia complexa, mas eu tinha um dom para eles. Ficar verdadeira e completamente invisível era uma grande dificuldade: fazer a luz passar por você era literalmente uma fria, pois deixava você morrendo de frio, e, além do mais, cega como um morcego. Mas não ser vista era uma proposta diferente. Um bom véu iria reduzir sua visibilidade a pouco mais que algum ar tremulando, algumas sombras vagas onde não deveriam estar, só que produzia mais do que isso. Criava uma sensação de banalidade no ar ao redor, uma aura de tediosa falta de emoção que você sente num trabalho do qual não gosta por volta de três e meia da tarde. Assim que essa sugestão é combinada com um perfil visível bem reduzido, permanecer sem chamar atenção era, por fim, tão fácil quanto respirar. Enquanto eu desaparecia naquele véu, também invoquei uma imagem, outra combinação de ilusão e sugestão. Era simples: eu, como tinha aparecido no espelho um instante antes, limpa e aparentemente alerta, segurando um copo de bondade fresca. A sensação que acompanhava isso era apenas um tipo de dose pesada de mim: o som de passos e movimento, o cheiro do xampu de Butters, o aroma de café saindo do meu copo. Eu amarrei a imagem a um dos anéis em meus dedos e a deixei lá, usando a energia que eu havia estocado numa pedra de feldspato. Depois me virei e, com minha imagem sobreposta ao meu corpo real como um terno feito de luz, saí da cafeteria. Uma vez do lado de fora a evasão foi uma manobra simples, como todas as boas são. Minha imagem virou à esquerda e eu virei à direita. Para qualquer um que olhasse, uma jovem acabara de sair da loja e fora andando pela rua com seu café. Estava aproveitando o dia. Eu tinha colocado um pouco mais de balanço nos movimentos da imagem, para que chamasse muito mais atenção (e fosse, portanto, uma melhor distração). Ela continuaria andando por aquela rua por um quilômetro e meio ou mais antes de desaparecer. Enquanto isso a verdadeira eu entrou silenciosamente num beco e observou. Minha imagem não tinha avançado cem metros quando um homem com suéter preto de gola rulê saiu de um beco e começou a segui-la – um servo de fomor. Aqueles cretinos estavam por toda parte, como baratas, só que mais repulsivos e difíceis de matar. Só que... aquilo tinha sido fácil demais. Um servo não teria disparado todos os meus alarmes instintivos. Eles eram fortes, rápidos e duros, sem dúvida, mas não mais do que muitas outras criaturas. Não tinham muito poder mágico; se tivessem, os fomor nunca os deixariam sair, para começar. Havia mais alguma coisa ali. Algo que me queria distraída, observando o aparente servo seguir a aparente Molly. E se algo me conhecia bem o bastante para criar aquele tipo de diversão a fim de chamar minha atenção, então me conhecia bem o bastante para me encontrar, mesmo sob meu véu. Era realmente limitado o número de pessoas que podiam fazer isso. Deslizei uma das mãos para dentro da minha mochila de nylon e saquei minha faca, a baioneta M9 do exército que meu irmão levara para casa do Afeganistão. Desembainhei a lâmina pesada, fechei os olhos e me virei rapidamente com a faca em uma das mãos e meu café na outra. Levantei a tampa do copo com o polegar e lancei o líquido num amplo arco mais ou menos à altura do peito. Ouvi um engasgo, me virei para ele, abri os olhos e fui na direção da origem do som, erguendo a faca no ar diante de mim num ponto um pouco mais alto do que o nível do meu coração. O aço da lâmina de repente explodiu com um clarão ao perfurar um véu que pairava no ar a poucos centímetros de mim. Avancei rapidamente através do véu, empurrando a ponta da faca diante de mim na direção da forma de repente revelada. Era uma mulher, mais alta que eu, vestindo roupas esfarrapadas (sujas de café), mas com seu comprido cabelo selvagem solto e agitado pelo vento. Ela se virou para um lado, desequilibrando-se, até seus ombros tocarem a parede de tijolos do beco. Eu não me detive, lançando a lâmina na direção de sua garganta – até que no último instante uma mão branca e magra se ergueu e segurou meu pulso, rápida como uma serpente, porém mais forte e mais fria. Meu rosto chegou a poucos centímetros do dela enquanto eu apoiava a base de uma das mãos na faca e me apoiava ligeiramente nela – o suficiente para contrabalançar sua força, mas não o suficiente para me desequilibrar caso ela fizesse um movimento rápido. Ela era magra e adorável, mesmo em farrapos, com grandes olhos verdes oblíquos e uma estrutura óssea perfeita que só podia ser encontrada em meia dúzia de modelos – e em todas as sidhe. – Olá, titia – disse eu numa voz equilibrada. – Não é gentil se esgueirar por trás de mim. Especialmente hoje em dia. Ela segurou meu peso sobre si com um braço, embora não fosse fácil. Havia uma tensão em sua voz melodiosa. – Criança – disse, suspirando. – Antecipou minha aproximação. Caso não a tivesse detido, terias cravado ferro frio em minha carne, me causando agonias indizíveis. Terias derramado meu sangue da vida sobre o chão – falou, e arregalou os olhos. – Terias me matado. – Sim, eu teria – concordei, afável. Sua boca se estendeu num largo sorriso, os dentes delicadamente pontudos. – Eu te ensinei bem. Depois ela girou com uma graça leve e fluida, para longe da lâmina e ficando de pé a uma boa distância de mim. Eu a observei e baixei a faca, mas não a guardei. – Não tenho tempo para lições agora, tia Lea. – Não estou aqui para te ensinar, criança. – Também não tenho tempo para jogos. – Nem eu vim aqui para fazer jogos contigo – disse a leanansidhe –, mas para te dar um alerta: tua arte não é segura aqui. Ergui uma sobrancelha para ela. – Uau. Céus. Ela inclinou a cabeça em tom de reprovação, e sua boca afinou. Os olhos passaram por mim para olhar o beco, e ela deu uma rápida espiada atrás de si. Sua expressão mudou. Ela não perdeu a superioridade satisfeita que sempre animava seus traços, mas a reduziu bem e baixou a voz. – Fazes piadas, criança, mas estás em grande perigo; assim como eu. Não devíamos ficar aqui – falou, pousando os olhos em mim. – Se desejas enfrentar este inimigo, se vais recuperar o irmão de meu afilhado, há coisas que preciso te dizer. Estreitei os olhos. A fada madrinha de Harry assumira como minha mentora quando Harry morreu, mas não era uma das fadas boas. Na verdade, era a segunda em comando de Mab, a rainha do Ar e da Escuridão, e um ser sedento de sangue e perigoso que dividia seus inimigos em duas categorias: aqueles que estavam mortos e aqueles que ela ainda não tivera o prazer de matar. Nunca soube que ela sabia sobre Harry e Thomas, mas isso não me chocou. Lea era uma criatura assassina e cruel – mas até onde eu sabia, nunca tinha mentido para mim. Tecnicamente. – Venha – disse a leanansidhe. Ela se virou e caminhou vigorosamente até a extremidade mais distante do beco, reunindo um simulacro e um véu enquanto seguia, para se esconder da atenção. Eu olhei para trás na direção do prédio onde Thomas estava sendo mantido, trinquei os dentes e a segui, fundindo meu véu ao dela ao sairmos.
Caminhamos pelas ruas de Chicago sem sermos vistas por milhares de olhos. Todas as pessoas pelas quais passamos deram alguns passos a mais para nos evitar, sem realmente pensar nisso. É importante implantar uma sugestão de desvio desse tipo quando você está numa multidão. Não faz sentido não ser visto se dezenas de pessoas continuam a esbarrar em você. – Diga-me, criança – falou Lea, de repente abandonando seu dialeto arcaico. Ela fazia isso às vezes quando estávamos sozinhas. – O que sabe sobre svartalves? – Pouco. Eles são do norte da Europa. Pequenos e vivem em subterrâneos. São os melhores artesãos mágicos da terra. Harry comprava coisas deles sempre que podia, mas não eram baratas. – Que secura – comentou a fada feiticeira. – Você soa como um livro, criança. Livros com frequência têm pouca relação com a vida – falou, seus intensos olhos verdes brilhando enquanto se virava para observar uma jovem com uma criança passar por nós. – O que sabe sobre eles? – São perigosos – respondi em voz baixa. – Muito perigosos. Os antigos deuses nórdicos costumavam ir até eles em busca de armas e armaduras, e não tentavam combatê-los. Harry disse ficar contente por nunca ter lutado contra um svartalf. Também são honrados. Assinaram os Acordos de Unseelie e os cumpriram. Têm reputação de selvagens quando isso envolve a proteção dos seus. Não são humanos, não são gentis e apenas um idiota os contraria. – Melhor – julgou a leanansidhe. Depois acrescentou, de modo casual: – Tola. Eu olhei para trás na direção do prédio que havia encontrado. – Aquilo é propriedade deles? – Sua Fortaleza, o centro de seus negócios mortais, aqui na grande encruzilhada – respondeu Lea. – Do que mais se lembra sobre eles? Eu balancei a cabeça. – Ahn. Uma das deusas nórdicas teve suas joias roubadas... – Freya – esclareceu Lea. – E o ladrão... – Loki. – É, ele. Ele colocou no prego com os svartalves ou algo assim, e foi bem difícil conseguir de volta. – Impressionante como é possível ser tão vago e tão preciso ao mesmo tempo – disse Lea. Eu fiz uma careta. Lea franziu o cenho para mim. – Você conhecia a história muito bem. Você estava... me provocando, como dizem.
– Eu tive uma boa professora na aula de deboche – retruquei. – Freya foi pegar seu colar de volta e os svartalves estavam dispostos a isso; mas apenas se ela concordasse em beijar cada um deles. Lea jogou a cabeça para trás e riu. – Criança, lembre-se de que muitas das antigas histórias foram traduzidas e transcritas por eruditos bastante pudicos – disse Lea em tom de malícia. – O que quer dizer? – Que os svartalves muito certamente não concordaram em abrir mão de uma das joias mais valiosas do universo por um simples beijo. Eu pisquei duas vezes e senti um calor nas faces. – Quer dizer que ela teve de... – Precisamente. – Todos eles? – De fato. – Uau. Eu gosto de brincar como todo mundo, mas isso é um pouco além do limite. Bastante além. Quero dizer, não dá nem para ver o limite. – Talvez. Imagino que isso dependa do quanto alguém precisa recuperar algo dos svartalves. – Ahn. Você está dizendo que eu preciso fazer algo do tipo para conseguir tirar Thomas de lá? Porque... isso não vai acontecer. Lea mostrou os dentes em outro sorriso. – Moralidade é algo divertido. – Você faria isso? Lea pareceu ofendida. – Por alguém? Certamente não. Você tem alguma ideia de qual obrigação isso implica? – Ahn. Não exatamente. – Isso não é escolha minha. Você precisa se fazer a seguinte pergunta: sua consciência limpa é mais valiosa para você que a vida do vampiro? – Não. Mas deve haver outro modo. Lea pareceu pensar nisso por um momento. – Svartalves amam a beleza. Eles a cobiçam do modo como um dragão anseia por ouro. Você é jovem, adorável e... Acredito que a expressão seja “um tesão”. A troca de seus favores pelo vampiro, uma transação objetiva, é quase certamente um sucesso, supondo que ele continue vivo. – Podemos chamar isso de Plano B. Ou talvez Plano X. Ou Plano XXX. Por que não posso invadir e tirá-lo de lá? – Criança – censurou a leanansidhe. – Os svartalves são muito habilidosos na Arte, e esta é uma de suas fortalezas. Eu não conseguiria tentar tal coisa e sair com vida. – Lea inclinou a cabeça e me lançou um daqueles olhares esquisitos que me davam arrepios. – Você quer resgatar Thomas ou não? – Eu gostaria de estudar minhas opções. A fada feiticeira deu de ombros. – Então, a aconselho a fazer isso o mais rápido possível. Caso ele ainda esteja vivo, Thomas Raith pode estar em suas últimas horas.
Eu abri a porta do apartamento de Wald, fechei, trancando-a atrás de mim. – Eu o encontrei. Quando me virei na direção da sala, alguém me deu um tapa forte no rosto. Não foi um tapa do tipo “Ei, acorde”. Foi um golpe de mão aberta, um que teria doído de verdade caso desferido com o punho cerrado. Cambaleei para o lado, chocada. A namorada de Waldo, Andi, cruzou os braços e me encarou com olhos estreitos por um momento. Era uma garota de peso mediano, mas lobisomem, e tinha o corpo de uma modelo que estava pensando em entrar para a luta profissional. – Oi, Molly. – Oi – respondi. – E... Ai. Ela ergueu um depilador de plástico rosa. – Vamos ter uma conversinha sobre limites. Algo feio em algum lugar bem no fundo de mim exibiu suas garras e ficou tenso. Era a parte de mim que queria alcançar Listen e fazer coisas envolvendo pregos de ferrovias e ralos no chão. Todos têm isso dentro de si, em algum lugar. É necessário que aconteçam coisas muito horríveis para despertar esse tipo de selvageria, mas está dentro de todos nós. É a parte de nós que causa atrocidades sem sentido, que transforma a guerra num inferno. Ninguém quer conversar sobre isso ou pensar sobre isso, mas eu não podia me permitir esse tipo de ignorância intencional. Nem sempre fui assim, mas depois de um ano combatendo os fomor e o subterrâneo soturno do mundo sobrenatural de Chicago, eu me tornei outra pessoa. Essa parte de mim estava desperta e ativa, e constantemente colocando minhas emoções em conflito com minha racionalidade. Mandei essa parte de mim se calar e colocar a bunda na cadeira. – Certo – falei. – Mas depois. Estou meio ocupada. Comecei a passar por ela para entrar na sala, mas ela me deteve colocando a mão sobre meu ombro e me empurrando para trás sobre a porta. Ela não pareceu ter tentado, mas bati na madeira com força. – Agora é bom. Em minha imaginação, cerrei os punhos e contei até cinco num berro furioso. Estava certa de que Harry nunca tivera de lidar com esse tipo de absurdo. Não tinha tempo a perder, mas também não queria começar algo violento com Andi. Iria ter de suportar um inferno se começasse uma briga. Eu me permiti o prazer de ranger os dentes, respirei fundo e anuí. – Certo. O que está passando pela sua cabeça, Andi? Não acrescentei as palavras “sua vagabunda”, mas pensei nelas realmente alto. Eu deveria ser uma pessoa mais gentil. – Este apartamento não é seu – disse Andi. – Você não pode entrar e sair daqui sempre que lhe dá na telha, sem se importar com a hora, ou com o que está acontecendo. Já parou para pensar no que está fazendo com Butters? – Não estou fazendo nada com Butters – retruquei. – Só estou usando o chuveiro. A voz de Andi se tornou mais cortante.
– Você veio para cá hoje coberta de sangue. Não sei o que aconteceu, mas quer saber? Não me importa. Só o que me importa é que tipo de problemas você pode causar para as outras pessoas. – Não houve problema. Olhe, vou comprar outra lâmina descartável para você. – Isto não é sobre propriedade ou dinheiro – devolveu Andi. – Isto é sobre respeito. Butters está à sua disposição sempre que precisa de ajuda, e você nem mesmo lhe agradece por isso. E se fosse seguida até aqui? Tem ideia das confusões em que ele poderia se meter por ajudá-la? – Não fui seguida. – Hoje – retrucou Andi. – E quanto à próxima vez? Você tem poder. Pode lutar. Eu não tenho o que você tem, mas até mesmo eu posso lutar. Butters não pode. Vai usar o chuveiro de quem se o próximo sangue sobre você for o dele? Cruzei os braços e desviei os olhos de Andi. Em alguma parte do meu cérebro eu sabia que ela tinha razão, mas esse raciocínio estava em segundo plano, bem distante, atrás da minha repentina ânsia de estapeá-la. – Olhe, Molly – continuou ela, sua voz se tornando mais gentil. – Sei que as coisas não têm sido fáceis para você ultimamente. Desde que Harry morreu. Quando o fantasma dele apareceu. Sei que não foi divertido. Simplesmente fiquei olhando para ela, sem falar. Nem fácil nem divertido. Essa era uma forma de descrever aquilo. – Há algo que eu acho que você precisa ouvir. – O que é? Andi se inclinou para a frente e falou, cortante: – Supere. O apartamento ficou muito silencioso por um momento, e meu interior não ficou. Aquela parte feia de mim começou a se tornar cada vez mais alta. Fechei os olhos. – As pessoas morrem, Molly – continuou Andi. – Elas partem. E a vida continua. Harry pode ter sido o primeiro amigo que você perdeu, mas não será o último. Entendo que esteja sofrendo. Entendo que esteja tentando ocupar o lugar de alguém realmente grande. Mas isso não lhe dá o direito de abusar da boa natureza das pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo, caso não tenha notado. Caso eu não tivesse notado. Deus, eu faria absolutamente tudo para conseguir não perceber a dor das pessoas. Não viver a dor por elas. Não sentir seu eco horas ou dias depois. A parte feia de mim, a parte obscura do meu coração, queria abrir um canal psíquico para Andi e mostrar a ela o tipo de coisa pela qual eu passo regularmente. Deixar que ela veja como iria gostar da minha vida. E então veríamos se depois ela seria tão superior. Seria errado, mas... Inspirei lentamente. Não. Harry uma vez me disse que você sempre sabe quando está prestes a justificar a tomada de uma decisão ruim. É quando começa a usar frases como “Seria errado, mas...”. Seu conselho era deixar a conjunção adversativa fora da frase: “Seria errado.” Ponto final. Então, não fiz nada imprudente. Não deixei que o tumulto crescente dentro de mim saísse. – O que exatamente gostaria que eu fizesse?
Andi expirou e fez um gesto vago com a mão. – Só... Tire a cabeça do próprio umbigo, garota. Eu não estou sendo irracional, considerando que meu namorado lhe deu uma chave da porra do apartamento dele. Eu pisquei uma vez com isso. Uau. Eu realmente nem pensara nessa decisão do Butters. Romance e conflito romântico não eram prioridades em minha lista. Andi não tinha nada com que se preocupar nesse sentido... Mas acho que ela não tinha conhecimento suficiente das emoções das pessoas para se dar conta disso. Agora eu tinha um nome para algumas das preocupações que ela tinha. Ela não estava com ciúmes, mas tinha consciência do fato de que eu era uma mulher jovem que um monte de homens achava atraente, e que Waldo era um homem. E ela o amava. Eu também podia sentir isso. – Pense nele – pediu Andi em voz baixa. – Por favor. Apenas... tente cuidar dele do modo como ele toma conta de você. Telefone antes. Se você entrasse coberta de sangue na próxima noite de sábado ele teria que explicar aos pais uma coisa muito esquisita. Eu teria sentido as presenças desconhecidas dentro do apartamento antes de chegar perto o suficiente para tocar na porta. Mas não fazia sentido dizer isso a Andi. Não era culpa dela não entender de verdade o tipo de vida que eu levava. Ela não merecia morrer por isso, não importando a opinião de minha sith interior. Eu tive de fazer escolhas com minha cabeça. Meu coração estava partido demais para ser confiável. – Vou tentar – falei. – Certo. Por um segundo, os dedos da minha mão direita tremeram, e senti a parte feia de mim prestes a lançar o poder sobre a outra mulher, cegá-la, deixá-la surda, afogá-la em vertigem. Lea me mostrara como. Mas controlei a ânsia de atacar. – Andi. – Sim? – Não bata em mim novamente a não ser que pretenda me matar. Não disse isso como uma ameaça, exatamente. Era apenas porque eu tendia a reagir por instinto quando as coisas começavam a ficar violentas. A turbulência psíquica desse tipo de conflito não me fazia tombar gritando de dor, mas tornava difícil pensar com clareza em meio ao rugido furioso da minha versão malvada. Se Andi me batesse de novo daquele jeito... Bem, eu não estava certa de como iria reagir. Não sou insana como o Chapeleiro Maluco. Estou bastante certa. Mas estudar sobrevivência com alguém como tia Lea deixa você pronto para se proteger, não para jogar limpo com os outros. Ameaça ou não, Andi estava acostumada a confronto, e não recuou. – Se eu não achar que você precisa de um bom tapa na cara, não darei um.
Waldo e Justine tinham ido comprar o jantar para viagem e voltaram uns dez minutos depois. Nós nos sentamos para comer enquanto eu explicava a situação.
– Svartalfheim – murmurou Justine. – Isso... Isso não é bom. – São aqueles caras noruegueses, certo? – perguntou Butters. Contei a eles entre garfadas de frango com laranja, transmitindo o que aprendera com a leanansidhe. Houve um silêncio depois disso. – Então... – disse Andi depois de um momento. – O plano é chupá-lo de lá? Eu olhei feio para ela. – Só estou perguntando – reagiu Andi num tom leve. – Eles nunca venderiam – falou Justine, a voz baixa, tensa. – Não esta noite. Olhei para ela. – Por que não? – Eles fecharam uma aliança hoje. Haverá uma celebração esta noite. Lara foi convidada. – Qual aliança? – perguntei. – Um pacto de não agressão – respondeu Justine. – Com os fomor. Eu senti meus olhos se arregalando. A situação com os fomor só continuava a piorar. Chicago não era nem de longe a cidade mais assolada do mundo, e ainda assim eles tinham transformado as ruas num pesadelo até para aqueles com talentos mágicos modestos. Eu não tinha acesso ao tipo de informação como na época em que trabalhava com Harry e o Conselho Branco, mas ouvira coisas por intermédio da Paranet e outras fontes. Os fomor eram uma espécie de time dos sonhos de caras maus, os sobreviventes, rejeitados e vilões de uma dúzia de panteões diferentes que desapareceram muito tempo atrás. Eles se reuniram sob o estandarte de um grupo de seres conhecidos como fomor, e permaneceram quietos por muito tempo – na verdade por mil anos. Naquele momento, eles estavam em ação – e mesmo interesses poderosos como Svartalfheim, a nação dos svartalves, saíam do caminho. Uau, eu não era maga o suficiente para lidar com aquilo. – Lara deve ter mandado Thomas lá por alguma razão – argumentou Justine. – Para roubar informações, para prejudicar a aliança de algum modo. Alguma coisa. Invasão já seria bastante ruim. Se ele foi capturado espionando... – Eles farão uma demonstração – falei em voz baixa. – Farão dele um exemplo. – A Corte Branca não poderia resgatá-lo? – perguntou Waldo. – A Corte Branca buscar a devolução de um dos seus seria como admitir que enviou um agente para criar confusão com Svartalfheim – respondi. – Lara não pode fazer isso sem produzir sérias repercussões. Ela irá negar que a invasão de Thomas tenha qualquer coisa a ver com ela. Justine se levantou e caminhou pela sala, o corpo tenso. – Temos de ir. Temos de fazer alguma coisa. Eu pagarei o preço; pagarei dez vezes o preço. Temos de fazer alguma coisa! Dei mais umas mordidas no frango com laranja, pensando. – Molly! – chamou Justine. Olhei para o frango. Gostava do modo como o molho de laranja contrastava com o verde profundo do brócolis e os contornos brancos suaves do arroz. As três cores produziam um complemento agradável.
– Eles cobiçam a beleza como um dragão cobiça ouro – murmurei. Butters pareceu sacar o fato de que eu estava pensando em algo. Recostou na cadeira e continuou comendo de uma caixa de noodles, os palitinhos precisos. Ele sequer precisava olhar para usá-los. Andi sacou um segundo depois e inclinou a cabeça para o lado. – Molly? – perguntou. – Eles vão dar uma festa esta noite. Certo, Justine? – perguntei. – Sim. Andi anuiu, impaciente. – O que vamos fazer? – Vamos às compras – anunciei.
Eu sou meio que moleca. Não porque não goste de ser menina ou algo assim, porque em geral acho isso bastante doce. Mas gosto de viver ao ar livre, de atividades físicas, de aprender coisas, ler coisas e construir coisas. Eu nunca mergulhei fundo no mundo feminino que envolve ser uma menina. Andi era um pouco melhor nisso que eu. O fato de que sua mãe não a criara do modo como a minha me criara era responsável por isso. Em minha casa, maquiagem era para ir à igreja e para mulheres de moral duvidosa. Eu sei, eu sei: o mundo se atola em contradições. Eu tinha problemas muito antes de me envolver com magia, podem acreditar. Não estava certa de como realizar o que precisávamos a tempo de ir para a festa, mas assim que expliquei do que precisávamos, descobri que, no que dizia respeito a ser feminina, Justine estava no comando. Em minutos um carro nos pegou e levou para um salão de beleza exclusivo no Loop, onde Justine sacou um cartão de crédito branco e sem qualquer marca. Cerca de vinte pessoas – conselheiros de figurino, cabeleireiros, maquiadores, alfaiates e técnicos de acessórios – entraram em ação e nos equiparam para a missão em pouco menos de uma hora. Eu não consegui me desviar do espelho dessa vez. Tentei olhar objetivamente para a jovem nele, como se fosse outra pessoa, e não aquela que ajudara a matar o homem que amava e que tinha depois falhado com ele ao impedir que mesmo seu fantasma fosse destruído em sua determinação de proteger os outros. Aquela vagabunda merecia ser atropelada por um trem ou algo assim. A garota no espelho era alta e tinha cabelos louros naturais presos com palitos chineses pretos reluzentes. Ela parecia magra, talvez até demais, mas tinha muito tônus muscular para ser uma viciada em anfetamina. O pretinho que vestia fazia com que cabeças se virassem. Parecia um pouco cansada, mesmo com a maquiagem de um especialista. Era bonita – se você não a conhecesse e não olhasse demais para o que acontecia em seus olhos azuis. Uma limusine branca parou para nos pegar e consegui cambalear até ela sem tropeçar. – Ai, meu Deus – disse Andi quando entramos. A ruiva esticou os pés e os sacudiu. – Eu adoro esses sapatos! Se tiver de virar loba e comer o rosto de alguém vou chorar por deixar isto para trás.
Justine sorriu para ela, mas depois olhou pela janela, seu rosto adorável distante, preocupado. – São apenas sapatos. – Sapatos que fazem minhas pernas e minha bunda parecerem fantásticas! – completou Andi. – Sapatos que machucam – falei. Minha perna machucada podia estar curada, mas circular naqueles aparelhos de tortura pontudos era um movimento novo, e uma dor constante subia pela minha perna na direção do quadril. A última coisa de que precisava era que cãibras me jogassem no chão como acontecia ao caminhar. Qualquer sapato com um salto daquela altura devia vir com a própria rede de proteção. Ou paraquedas. Estávamos indo com modelos parecidos: vestidinhos pretos elegantes, gargantilhas pretas e escarpins pretos que anunciavam nossa esperança de não passar muito tempo de pé. Cada uma de nós também tinha uma pequena carteira italiana de couro preto. Eu colocara na minha a maior parte de meu equipamento mágico. Todas nós estávamos com os cabelos presos em estilos que variavam um pouco. Havia pinturas renascentistas falsificadas que não tinham recebido tanta atenção do artista quanto nossos rostos. – Você só precisa praticar andar com eles – disse Justine. – Tem certeza de que isto vai funcionar? – Claro que vai – falei calmamente. – Você já esteve em boates, Justine. Nós três juntas furaríamos a fila em qualquer lugar da cidade. Somos um conjunto combinado de gostosas. – Como as garotas de Robert Palmer – comentou Andi secamente. – Eu tinha pensado nas Panteras – falei. – Ah, e por falar nisso. Abri a certeira e tirei um cristal de quartzo do tamanho do meu polegar. – Bosley, consegue me ouvir? Um segundo depois, o cristal vibrou em meus dedos e ouvimos a voz fraca de Waldo saindo dele. – Alto e claro, panteras. Acha que isso vai funcionar assim que tiverem entrado? – Depende de quão paranoicos eles são – respondi. – Se forem paranoicos, terão defesas instaladas para cortar qualquer comunicação mágica. Se forem paranoicos homicidas, terão defesas instaladas que nos deixarão falar para que possam nos ouvir e depois nos matarão. – Divertido – concluiu Butters. – Certo, estou com o bate-papo da Paranet. Se isso vale alguma coisa, a mente coletiva está acionada. – O que descobriu? – perguntou Andi. – Eles parecerão humanos – respondeu Waldo. – Suas formas reais são... Bem, há controvérsias, mas o consenso básico é que eles parecem alienígenas. – Ripley ou Roswell? – perguntei. – Roswell. Mais ou menos. Mas podem vestir formas de carne, como os vampiros da Corte Vermelha faziam. Então, tenham consciência de que estarão disfarçados. – Mais alguma coisa? – perguntei. – Não muito. Só há histórias demais circulando para se ter certeza de alguma coisa. Eles poderiam ser alérgicos a sal. Podem ser obsessivo-compulsivos de uma forma sobrenatural e surtar se você colocar sua roupa pelo avesso. Podem virar pedra se expostos ao sol. Eu grunhi. – Não custava nada tentar. Certo. Mantenha a discussão e voltarei a falar com você se puder. – Ok – falou ele. – Marci acabou de chegar aqui. Vou levar o laptop e estaremos esperando por vocês no lado leste do prédio quando estiverem prontas para ir. Como você está, Andi-liciosa? – Fabulosa – respondeu Andi, confiante. – A barra desses vestidos termina a menos de três centímetros de vagabunda ninfomaníaca. – Alguém tire uma foto – pediu ele, alegre, mas pude ouvir a preocupação em sua voz. – Vemos vocês logo. – Não corra nenhum risco – falei. – Vejo você logo. Guardei o cristal e tentei ignorar o frio na barriga. – Isto não vai dar certo – murmurou Justine. – Isto vai dar certo – falei a ela, mantendo o tom confiante. – Vamos entrar direito. A Prateleira estará conosco. Justine me encarou com uma sobrancelha erguida. – “A Prateleira”? – A Prateleira é mais que apenas peitos, Justine – expliquei, sóbria. – É um campo de energia criado por todos os peitos vivos. Ele nos cerca, penetra em nós e mantém a galáxia unida. Andi começou a rir. – Você é maluca. – Mas maluca funcional – corrigi, e me ajustei para projetar um pouco mais. – Simplesmente abandone seu eu consciente e aja por instinto. Justine me lançou um olhar vazio por um segundo. Depois, o rosto desanuviou e ela soltou um risinho. – A Prateleira estará conosco? Eu não consegui conter um sorriso. – Sempre.
A limusine entrou numa fila de veículos semelhantes que deixava pessoas à entrada da fortaleza svartalf. Um valete abriu nossa porta, eu lancei as pernas para fora e tentei sair do carro sem pagar calcinha para todo mundo ali. Andi e Justine me seguiram e comecei a andar com confiança na direção da entrada com as outras duas me flanqueando. Nossos calcanhares estalavam quase em uníssono, e de repente senti todos os olhos ali se virando na nossa direção. Uma nuvem de pensamentos e emoções rolou em reação à nossa presença – principalmente prazer, com uma mistura de desejo, lascívia explícita, inveja, ansiedade e surpresa. Doía sentir tudo aquilo raspando o interior da minha cabeça, mas era necessário. Não senti nenhuma hostilidade explícita ou violência imediata, e o instante de alerta que eu poderia ter entre sentir a intenção de um agressor e o momento da agressão poderia salvar nossas vidas.
Um segurança à porta nos observou enquanto nos aproximávamos, e pude sentir a descomplicada atração sexual se agitando dentro dele. Mas ele manteve isso fora do rosto, da voz e do corpo. – Boa noite, damas. Posso ver seus convites? Ergui uma sobrancelha para ele, lancei o que esperava ser um sorriso sedutor e tentei curvar as costas um pouco mais. Usar a Prateleira tinha funcionado antes. – Você não precisa ver nossos convites. – Ahn – ele reagiu. – Senhorita... Eu meio que preciso. Andi se adiantou ao meu lado e lançou a ele um sorriso de gata que me fez odiá-la um pouco só por um segundo. – Não precisa, não. – Ahn – ele repetiu. – É. Ainda preciso. Justine se adiantou do outro lado. Ela parecia mais doce que sensual, mas por pouco. – Tenho certeza de que foi apenas um equívoco. Não poderia perguntar ao seu supervisor se poderíamos ir à recepção? Ele nos encarou por um longo momento, hesitante. Depois uma das mãos foi até o rádio ao lado do corpo e o ergueu até a boca. Um instante depois, um homem pequeno e magro em terno de seda saiu de dentro do prédio. Deu uma longa olhada em nós. O interesse que eu sentira no guarda fora bastante normal. Havia sido apenas uma fagulha, a reação instintiva de qualquer macho a uma fêmea desejável. O que estava emanando naquele momento do cara novo era... era mais como fogos de artifício. Queimava mil vezes mais quente e brilhante, e não parava de queimar. Eu já sentira lascívia e desejo nos outros antes. Aquilo era tão mais profundo e amplo que simples lascívia que não acho que exista uma palavra para definir. Era... uma ânsia enorme e inumana, fundida a um amor feroz e ciumento, temperado com atração sexual e desejo. Era como ficar de pé próximo a um pequeno sol, e de repente entendi o que tia Lea havia tentado me contar. Fogo é quente. Água é molhada. E svartalves anseiam por garotas bonitas. Eles não podem mudar sua natureza do mesmo jeito que não poderiam mudar o curso das estrelas. – Senhoritas – disse o cara novo, sorrindo para nós. Era um sorriso encantador, mas ao mesmo tempo havia algo distante e perturbador em seu rosto. – Por favor, esperem apenas um momento enquanto alerto meu outro funcionário. Ficaríamos honrados caso se juntassem a nós. Ele se virou e entrou no prédio. Justine me olhou de lado. – A Prateleira pode ter uma influência poderosa sobre os de mente fraca – falei. – Eu me sentiria melhor caso ele não tivesse saído com uma citação de Darth Vader – suspirou Andi. – Ele tinha um cheiro estranho. Ele era... – É – sussurrei de volta. – Um deles. O homem de terno de seda reapareceu, ainda sorrindo, e abriu a porta para nós. – Senhoritas – repetiu ele. – Eu sou o sr. Etri. Por favor, entrem.
* * *
Nunca em toda a minha vida eu vira um lugar mais opulento que o interior da fortaleza dos svartalves. Não em revistas, não no cinema. Havia toneladas de granito e mármore. Paredes com pedras preciosas e semipreciosas incrustadas. Luminárias feitas do que parecia ser ouro maciço, e os interruptores leves pareciam esculpidos em marfim delicado. Seguranças colocados a cada seis ou nove metros, de pé em posição de sentido como aqueles caras do lado de fora do palácio de Buckingham, só que sem os chapéus altos. A luz vinha de todos os lugares e de lugar nenhum, transformando todas as sombras em coisas finas e leves, sem se tornar brilhante demais para os olhos. A música pairava no ar, alguma coisa clássica, antiga, toda de cordas e sem batidas de tambor. Etri nos conduziu por dois corredores até um salão de baile que era uma enorme catedral. Era absolutamente palaciano ali – na verdade, eu estava certa de que o salão não deveria caber no prédio em que entramos – e estava cheio de pessoas de aparência cara, vestindo roupas de aparência cara. Esperamos na entrada enquanto Etri parava para falar com outro segurança. Aproveitei o momento para passar os olhos pelo salão. O lugar não estava de modo algum lotado, mas havia muitas pessoas lá. Reconheci duas celebridades, pessoas que você identificaria se lhe dissesse seus nomes. Havia algumas das sidhe, sua habitual perfeição física assombrosa reduzida a uma mera beleza exótica. Localizei o cavalheiro Johnnie Marcone, chefe da associação de Chicago, com seu gorila Hendricks e sua bruxa de ataque pessoal gard flutuando ao redor. Havia um bom número de pessoas que eu tinha certeza de que não eram pessoas; eu podia sentir a percepção borrada no ar ao redor delas como se estivessem isoladas de mim por uma fina cortina de água em queda. Mas não vi Thomas. – Molly – sussurrou Justine, quase inaudível. – Ele... O feitiço de rastreamento que eu concentrara em meus lábios ainda estava funcionando, um leve formigamento me dizia que Thomas estava perto, bem no interior do prédio. – Ele está vivo – confirmei. – Está aqui. Justine estremeceu e respirou fundo. Piscou lentamente, uma vez, o rosto não revelando nada enquanto fazia isso. Mas senti na presença dela a onda de alívio e terror simultâneos, uma repentina explosão de emoção que cobrava dela que gritasse, fugisse ou caísse em lágrimas. Ela não fez nada disso, e desviei os olhos dela para lhe dar a ilusão de que não notara seu quase colapso nervoso. No centro do salão de baile havia uma pequena plataforma elevada de pedra com alguns degraus levando a ela. Sobre a plataforma, um pilar do mesmo material. Pousado nele uma pilha grossa de papéis e uma fileira organizada de canetas-tinteiro. Havia um tom solene e cerimonial no modo como estava montado. Justine também olhava para aquilo. – Tem de ser ele. – O tratado? Ela anuiu. – Os svartalves são muito metódicos em seus negócios. Irão concluir o tratado à meia-noite. Sempre fazem isso. Andi tamborilou o dedo no quadril, pensativa. – E se algo acontecesse ao tratado antes? Quero dizer, se alguém derramasse uma taça de vinho nele ou algo assim? Isso chamaria atenção, aposto; talvez desse a duas de nós uma chance de ir mais fundo. Eu balancei a cabeça. – Não. Somos convidadas aqui. Você entende? – Ahn. Na verdade, não. – Os svartalves são antiquados – expliquei. – Realmente antiquados. Se quebrarmos a paz quando eles nos convidaram para seu território, estaremos violando nosso direito de convidadas e os desrespeitando como anfitriões; explicitamente, na frente de toda a comunidade sobrenatural. Eles irão reagir... mal. – Então, qual é nossa próxima jogada? – quis saber Andi. Por que as pessoas insistem em me perguntar isso? Todos os magos têm de passar por isso? Eu fiz essa pergunta a Harry uma centena de vezes, mas nunca me dei conta de como era duro ouvi-la. Mas Harry sempre sabia o que fazer. Tudo o que eu fazia era improvisar desesperadamente e torcer pelo melhor. – Justine, você conhece alguns dos personagens aqui? Como assistente pessoal de Lara Raith, Justine entrava em contato com muitas pessoas e não exatamente pessoas. Lara tinha tantas mãos em tantas cumbucas que eu nem podia brincar sobre isso, e Justine via, ouvia e pensava muito mais do que qualquer um reconhecia nela. A garota de cabelos brancos estudou o salão, os olhos escuros passando de um rosto para outro. – Vários. – Certo. Quero que circule e veja o que consegue descobrir – falei. – Fique de olhos abertos. Se os vir mandando o esquadrão de feras atrás de nós, pegue o cristal e nos avise. – Certo – sussurrou Justine. – Cuidado. Etri retornou e sorriu de novo, embora seus olhos permanecessem estranha e perturbadoramente sem expressão. Fez um gesto de mão e um homem de smoking deslizou na nossa direção com uma bandeja de bebidas. Nós nos servimos e também Etri. Ele ergueu a taça, brindando. – Senhoritas, sejam bem-vindas. À beleza. Nós o ecoamos e todos bebemos. Mal deixei meus lábios tocarem o líquido. Era champanhe do bom. Borbulhava, e mal senti o álcool. Não estava preocupada com venenos. Etri deixara que escolhêssemos nossos copos antes de pegar o seu. Na verdade, eu estava mais preocupada com o fato de que deixara de considerar a possibilidade de envenenamento e de observar Etri atentamente enquanto nos servia. É paranoia se preocupar com coisas assim? No momento me pareceu razoável. Cara, talvez eu seja mais perturbada do que achei ser. – Por favor, desfrutem da recepção – disse Etri. – Temo que terei de insistir em uma dança com cada uma de vocês, jovens adoráveis, quando o tempo e o dever permitirem. Quem será a primeira? Justine deu a ele um sorriso banhado em Prateleira e ergueu a mão. Se você torcesse meu braço eu lhe diria que Justine com certeza era a garota mais bonita de nosso trio, e Etri concordava. Seus olhos se aqueceram por um instante antes de tomar a mão de Justine e conduzi-la para a pista de dança. Eles desapareceram na multidão em movimento. – Eu não daria conta dessa coisa de salão de baile de qualquer modo – disse Andi. – Nem de longe tenho rebolado suficiente. Hora da próxima jogada? – Hora da próxima jogada – respondi. – Venha. Liguei o “siga o formigamento em meus lábios” e as duas seguimos para os fundos do salão de baile, onde portas levavam ainda mais para o interior da instalação. Não havia guardas junto às portas, mas à medida que chegamos mais perto os passos de Andi começaram a desacelerar. Ela olhou para o lado, onde havia uma mesa de lanches, e a vi virando nessa direção. Eu a peguei pelo braço e falei: – Espere. Para onde está indo? – Ahn... Para ali? Eu projetei meus sentidos e senti a trama sutil de magia no ar ao redor da passagem, fina como teia de aranha. Era uma espécie de véu, projetado para desviar para qualquer outra coisa no salão a atenção de qualquer um que se aproximasse da passagem. Isso fez a mesa de lanches parecer mais saborosa. Se Andi tivesse visto um cara ele teria parecido muito mais bonito do que realmente era. Eu convivi com uma fada feiticeira poderosa lançando véus e encantos sobre mim por quase um ano, fortalecendo minhas defesas mentais, e alguns meses antes passara por doze assaltos no ringue de boxe psíquico com um campeão necromante peso-pesado. Eu sequer notara a suave trama mágica se chocando contra meus escudos mentais. – É um encantamento – expliquei. – Não permita que isso a tire do caminho. – O quê? – reagiu ela. – Não sinto nada. Só estou com fome. – Você não sentiria. É como funciona. Segure na minha mão e feche os olhos. Confie em mim. – Se eu ganhasse um centavo para cada vez que uma noite ruim começou com uma frase dessas – murmurou ela. Mas colocou a mão na minha e fechou os olhos. Eu a conduzi na direção da passagem e a senti ficar paulatinamente mais tensa – mas então passamos e ela soltou a respiração ruidosamente, abrindo os olhos. – Uau. Isso pareceu... Absolutamente nada. – É assim que você reconhece um encanto de qualidade. Se você não sabe que ele o pegou, não consegue lutar contra.
O corredor no qual estávamos parecia muito com o de qualquer prédio comercial. Tentei a porta mais próxima e vi que estava trancada. Assim como as duas seguintes, mas a última era uma sala de reuniões vazia, e deslizei para dentro. Tirei o cristal da minha carteira. – Bosley, consegue me ouvir? – perguntei. – Alto e claro, panteras – respondeu a voz de Waldo. Nenhum de nós usava nomes reais. Os cristais eram seguros, mas um ano com os truques sujos de Lea sendo característica diária da vida me ensinou a não fazer muitas suposições. – Conseguiu aquelas plantas baixas? – Há uns noventa segundos. Os donos do prédio arquivaram tudo na prefeitura em três cópias, incluindo eletrônicas, para as quais estou olhando agora, gentileza da mente coletiva. – Vantagem, nerds – falei. – Diga a eles que mandaram bem, Boz. – Direi. Essas pessoas que estão visitando são minuciosas, panteras. Tomem cuidado. – Quando não sou cuidadosa? – retruquei. Andi assumira posição de guarda junto à parede perto da porta, onde poderia agarrar qualquer um que a abrisse. – Falando sério? Não consegui conter um pequeno sorriso. – Acho que nosso cordeiro perdido está na ala do prédio a oeste do salão de recepções. O que tem lá? – Ahn... Escritórios, aparentemente. Segundo andar, mais escritórios. Terceiro andar, mais escri... Ôpa. – O que você descobriu? – Um cofre – disse Waldo. – Aço reforçado. Enorme. – Ah, um cofre de aço reforçado? Vinte pratas que é uma masmorra. Começamos por lá. – O que quer que seja, fica no porão. Deve haver escadas levando para baixo no final do corredor que sai do salão de recepções. – Bingo – falei. – Continue ligado, Bosley. – Continuarei. Sua carruagem aguarda. Guardei o cristal e comecei a colocar meus anéis. Juntei todos, depois, ao pensar em pegar as varinhas, me dei conta de que não poderia levá-las nas duas mãos enquanto carregava a carteira. – Sabia que deveria ter escolhido a bolsa carteiro – murmurei. – Com esse vestido? – reagiu Andi. – Está brincando? – Sério – falei, pegando o cristal e o enfiando no decote, colocando as varinhas uma em cada mão e anuindo para Andi. – Se é um cofre ou uma masmorra, haverá guardas. Vou dificultar que eles nos vejam, mas poderemos ter de correr. Andi baixou os olhos para os sapatos e deu um sorriso sofrido. Depois os descalçou e tirou o pretinho. Não estava usando nada por baixo. Fechou os olhos por um segundo, e então sua forma pareceu ficar borrada e derreter. Pelo que me contaram lobisomens não fazem dramáticas transformações dolorosas, a não ser na primeira vez. Isso pareceu tão natural quanto um ser vivo dando uma volta e se sentando. Num momento, Andi estava ali e no seguinte havia um grandioso lobo de pelo castanho avermelhado sentado onde ela estivera. Era uma magia muito legal. Um dia desses, eu teria de descobrir como aquilo era feito. – Não derrame sangue a não ser que seja absolutamente necessário – avisei, tirando meus sapatos torturantes. – Vou tentar tornar isso rápido e indolor. Se houver problemas, não matar alguém será muito bom com os svartalves. Andi bocejou para mim. – Pronta? – perguntei. Andi balançou sua cabeça lupina numa anuência firme e decidida. Eu lancei ao redor de nós a magia de ocultação do meu véu de primeira categoria e a luz de repente diminuiu, as cores sendo drenadas do mundo. Seria quase impossível nos ver. E qualquer um que chegasse a uns quinze metros de nós desenvolveria um repentino desejo de um pouco de introspecção, questionando seus rumos na vida de modo tão profundo que praticamente não havia chance de que fôssemos detectadas desde que permanecêssemos em silêncio. Com Andi andando bem ao meu lado, saímos para o corredor. Encontramos a escada, e abri a porta para ela lentamente. Não fui na frente. Nada é melhor do que ter um lobisomem como guia, e eu trabalhara com Andi e seus amigos com frequência suficiente no ano anterior para que nossos movimentos se tornassem rotina. Andi foi na frente, se deslocando em absoluto silêncio, as orelhas erguidas, o nariz retorcendo. Lobos têm um olfato inacreditável. A audição também. Se houvesse alguém por perto, Andi sentiria. Depois de quinze minutos tensos ela se sentou, me dando o sinal de que estava tudo limpo. Fui até ela e projetei meus sentidos, procurando mais defesas mágicas ou encantamentos. Havia meia dúzia no primeiro lance da escada – coisas simples, o equivalente na feitiçaria a armadilhas com cabos. Felizmente, tia Lea me mostrara como superar encantamentos como aqueles. Eu me concentrei e modifiquei nosso véu, depois anuí para Andi e começamos a descer a escada devagar. Passamos pelos campos de magia invisíveis sem perturbá-los e chegamos ao porão. Verifiquei a porta ao pé da escada e descobri que estava destrancada. – Isto está parecendo fácil demais – murmurei. – Se é uma prisão, não deveria estar trancada? Andi deu um rosnado baixo e pude sentir concordância e desconfiança. Minha boca continuava a coçar, ainda mais forte. Thomas estava perto. – Acho que não há muita escolha aqui – falei, abrindo a porta, lenta e silenciosamente. A porta não se abriu para nenhum tipo de masmorra. Também não se abriu para revelar um cofre. Em vez disso, Andi e eu nos vimos olhando para um corredor comprido tão opulento quanto aqueles acima, com grandes portas decoradas generosamente espalhadas ao longo dele. Cada porta tinha um número simples, gravado no que parecia ser prata pura. Uma iluminação muito reduzida fora colocada estrategicamente no comprimento, deixando-o numa penumbra confortável. O rosnado baixo de Andi se transformou em um barulhinho confuso, e ela inclinou a cabeça para um lado. – É – concordei, perplexa. – Parece... Um hotel. Há até mesmo um cartaz na parede mostrando rotas de fuga de incêndio. Andi deu uma sacudidela na cabeça e senti o suficiente de suas emoções para compreender o significado. “Que porra é essa?” – Eu sei. Isto é... Alojamento para os svartalves? Acomodações de convidados? Andi ergueu os olhos para mim e moveu as orelhas. “Por que está me perguntando? Eu nem consigo falar.” – Sei que não consegue. Só estou pensando em voz alta. Andi piscou, as orelhas se virando na minha direção, e me olhou de esguelha. “Você me ouviu?” – Eu não exatamente a ouvi, apenas... entendi você. Ela se afastou um pouco de mim. “Justo quando pensei que você não poderia se tornar mais esquisita e perturbadora.” Dei um sorriso maliciosamente largo e os olhos insanos que costumava usar para assustar meus irmãos e minhas irmãs. Andi bufou e então começou a farejar o ar. Eu a observei com atenção Seus pelos eriçaram e a vi se agachar. “Há coisas aqui. Cheiros demais para isolar. Algo familiar, e não no bom sentido.” – Thomas está perto. Venha. Avançamos, e mantive o rosto virado para a fonte de cócegas de meu feitiço de rastreamento. Ele começou a virar para a direita, e quando chegamos à porta do quarto 6 o formigamento de repente passou para o canto da minha boca até eu me virar para encarar a porta de frente. – Aqui, no 6. Andi olhou para os dois lados do corredor, os olhos inquietos, as orelhas tentando girar em todas as direções. “Não gosto disso.” – Fácil demais – sussurrei. – Isto está fácil demais. Estiquei a mão na direção da maçaneta e parei. Minha cabeça me dizia que aquela situação era errada. Assim como meus instintos. Se Thomas era um prisioneiro sendo mantido por Svartalfheim, então onde estavam as celas, as correntes, os cadeados, as barras, os guardas? E se não estava sendo mantido contra sua vontade... O que ele estava fazendo ali? Quando você se vê numa situação que não faz sentido algum, normalmente é por uma razão: você tem informações ruins. Você pode receber informações ruins de diversas formas. Às vezes, você está errado sobre o que aprendeu. Com maior frequência, e ainda mais perigoso, sua informação é ruim porque fez uma suposição equivocada. A pior de todas é quando alguém dá a informação errada a você deliberadamente – e, como um idiota, você confia e a recebe sem hesitar. – Titia – murmurei. – Ela me enganou. Lea não me mandara para dentro do prédio para resgatar Thomas – ou pelo menos não apenas para isso. Também não era uma porra de coincidência que tivesse me ensinado como superar especificamente a segurança mágica que os svartalves estavam usando. Ela tivera outro objetivo ao me colocar ali naquela noite. Repassei de cabeça a nossa conversa. Nada que ela me contara era uma mentira, e tudo havia sido moldado para me fazer chegar à conclusão errada – a de que Thomas devia ser resgatado e que eu era a única que faria isso. Eu não sabia por que a leanansidhe achava que eu precisava estar onde estava, mas ela certamente garantira que chegasse ali. – Aquela vaca dissimulada, enganosa e traiçoeira. Quando eu a pegar vou... Andi de repente soltou um rosnado muito baixo, e calei a boca no mesmo instante. A porta da escada se abriu e o desgraçado do Listen e vários golas rulê começaram a seguir pelo corredor na nossa direção. Listen era um homem magro e em forma, de altura mediana. Tinha o cabelo cortado à escovinha, a pele era clara e os olhos escuros pareciam duros e inteligentes. Os lobos e eu tentamos derrotá-lo várias vezes, mas ele sempre conseguia escapar ou virar a mesa e nos fazer fugir. Caras maus violentos são muito maus. Caras maus violentos com recursos, impiedosos, profissionais e inteligentes são muito pior. Listen era um dos últimos e eu odiava suas entranhas viscosas. Ele e seus lacaios vestiam o uniforme padrão dos servos dos fomors: calças pretas, sapatos pretos e um suéter preto de gola rulê. A gola rulê cobria as guelras dos dois lados dos pescoços, de modo que eles podiam se fazer passar por mortais. Eles não eram, ou pelo menos não mais. Os fomor os modificaram, tornando-os mais fortes, rápidos e totalmente imunes à dor. Eu nunca antes conseguira montar uma emboscada de sucesso, e naquele momento uma acabara de cair bem no meu colo. Eu estava com toda gana para vingar o sangue que lavara do meu corpo naquele dia mais cedo. Mas os servos tinham mentes bizarras e continuavam se tornando mais bizarros. Era uma maldita dificuldade tentar entrar em suas cabeças do modo como eu iria precisar, e se meu primeiro ataque fracassasse num espaço apertado como aquele, aquela turma faria a mim e a Andi em pedaços. Então, trinquei os dentes. Coloquei a mão no pescoço de Andi e apertei levemente enquanto me agachava ao lado dela, me concentrando no véu. Eu tinha de reduzir a sugestão de introspecção. Listen quase me matara alguns meses antes quando notou um encanto semelhante alterando o rumo de seus pensamentos. Aquilo foi assustador para cacete, mas desde então melhorei. Fechei os olhos e girei as teias mais leves e finas de sugestão que meus dons conseguiam manipular, ao mesmo tempo apertando ainda mais o véu ao redor de nós. A luz no corredor baixou para quase nada, e o ar sobre minha pele se tornou mais frio. Eles se aproximaram, Listen no comando, caminhando com um objetivo rápido e silencioso. O filho da puta passou a pouco mais de meio metro de mim. Eu poderia ter esticado a mão e tocado nele. Nenhum deles parou. Eles seguiram pelo corredor até o quarto 8, e Listen enfiou uma chave na porta. Abriu, e ele e os colegas começaram a entrar no quarto. Aquela era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. A despeito de todo o terror que os fomor tinham trazido ao mundo desde a extinção da Corte Vermelha, ainda não sabíamos como faziam o que faziam. Não sabíamos o que queriam, ou como pensavam que seus atos de então lhes dariam isso. Então, me movi com todo o silêncio que o ano anterior me ensinara da forma mais difícil e segui a fila de servos que entrava na câmara. Depois de um segundo assustado, Andi se juntou a mim, também silenciosa. Nós nos esgueiramos pela porta antes que se fechasse. Ninguém olhou para nós enquanto chegávamos a uma suíte de palácio, mobiliada tão ricamente quanto o resto do prédio. Além da meia dúzia de golas rulê no grupo de Listen, outros cinco estavam de pé no quarto em posição de guarda, costas esticadas, braços cruzados atrás. – Onde ele está? – perguntou Listen a um guarda ao lado de uma porta. O guarda era o maior gola rulê ali, com um pescoço parecendo um hidrante. – Dentro – respondeu o guarda. – Está quase na hora – disse Listen. – Informe a ele. – Ele deixou ordens para não ser perturbado. Listen pareceu pensar nisso por um momento. – Uma falta de pontualidade irá invalidar o tratado e tornar impossível a nossa missão. Informe a ele. O guarda fechou a cara. – O senhor deixou ordens de... O tronco de Listen avançou num movimento repentino, tão rápido que só consegui vê-lo como movimento. O guarda grande soltou um sibilo súbito e um grunhido, e sangue escorreu de repente de sua garganta. Ele cambaleou um passo, se virou para Listen e ergueu a mão. Depois, estremeceu e desabou no chão, sangue jorrando de um enorme ferimento irregular no pescoço. Listen soltou um pedaço de carne do tamanho de uma bola de beisebol dos dedos nus ensanguentados e se curvou para limpá-los no suéter do gola rulê morto. O sangue não se destacou sobre o preto. Ele se empertigou novamente e depois bateu na porta. – Meu senhor. É quase meia-noite. Fez isso mais uma vez após exatos sessenta segundos. E repetiu mais três vezes antes que uma voz pastosa respondesse. – Deixei ordens para não ser perturbado. – Perdoe-me, meu senhor, mas o momento se aproxima. Se não agirmos nossos esforços terão sido por nada. – Não cabe a você presumir quais ordens podem ou não podem ser ignoradas – disse a voz. – Execute o idiota que permitiu que meu sono fosse perturbado. – Já foi feito, meu senhor.
Houve um grunhido menos áspero do outro lado da porta, e um momento depois ela se abriu, e pela primeira vez eu vi um dos senhores dos fomor. Era um ser alto e extremamente emaciado, mas de algum modo não magro. Suas mãos e seus pés eram grandes demais, e sua barriga se projetava como se contivesse uma bola de basquete. As bochechas também eram exageradas, o maxilar inchado como se tivesse caxumba. Os lábios eram largos demais, grossos demais e com aparência de borracha. Os cabelos pareciam achatados demais, escorridos demais, como algas que o mar acabou de jogar na praia, e no conjunto parecia uma espécie de sapo venenoso comprido. Vestia apenas um cobertor jogado sobre os ombros. Eca. Havia três mulheres no quarto atrás dele, nuas, espalhadas e mortas. Cada uma tinha hematomas roxos vívidos ao redor da garganta e olhos vítreos abertos. Todos os gola rulê se jogaram no chão súplices quando o fomor entrou, embora Listen tivesse apenas baixado sobre um joelho. – Ele está aqui? – perguntou o fomor. – Sim, meu senhor – respondeu Listen. – Juntamente com seus dois guardacostas. O fomor guinchou uma risadinha e esfregou as mãos de dedos chatos. – Arrivista mortal. Chamando a si mesmo de barão. Ele vai pagar pelo que fez ao meu irmão. – Sim, meu senhor. – Ninguém pode assassinar minha família a não ser eu. – Claro, meu senhor. – Traga-me a concha. Listen se curvou e fez um gesto de cabeça para os outros golas rulê. Eles foram até outra porta e depois saíram carregando entre eles uma concha de ostra que devia pesar meia tonelada. A coisa era monstruosa e coberta com uma casca de corais, cracas ou seja lá o que for aquelas coisas que crescem nos cascos dos navios. Tinha quase dois metros de diâmetro. Os golas rulê a colocaram no chão no meio da sala. O fomor foi até a concha, tocou-a com uma das mãos e murmurou uma palavra. Instantaneamente brotou uma luz sobre toda a sua superfície, se curvando e retorcendo em padrões ou talvez letras que eu nunca vira antes. O fomor ficou de pé acima dela por um tempo, uma das mãos esticadas, olhos bulbosos apertados, dizendo algo numa língua sibilante e borbulhante. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas movimentava muita energia, o que quer que fosse. Eu podia senti-la tomando o ar da câmara, fazendo-a parecer mais apertada e de algum modo mais difícil de respirar. – Meu senhor? – perguntou Listen de repente. – O que está fazendo? – Um presente para nossos novos aliados, é claro – respondeu o fomor. – Não posso aniquilar os svartalves juntamente com todos os outros. Não ainda. – Isso não está de acordo com os planos da imperatriz. – A imperatriz me disse que eu não devia machucar nossos novos aliados – cuspiu o fomor. – Não disse nada sobre a ralé choramingas frequentando seus festejos. – Os svartalves valorizam muito a sua honra – argumentou Listen. – O senhor irá envergonhá-los caso seus convidados sejam machucados enquanto desfrutam de sua hospitalidade, meu senhor. Isso poderia destruir o sentido da aliança. O fomor cuspiu. Um bolo de uma substância amarelada semelhante a muco caiu no chão perto dos pés de Listen. Ela chiou e estalou sobre o piso de mármore. – Assim que o tratado estiver assinado, estará feito. Meu presente será dado a eles nos momentos seguintes: pouparei suas vidas infelizes. E se o resto da ralé se voltar contra os svartalves eles não terão escolha a não ser se voltar para nós e nossa força – explicou, com um risinho satisfeito. – Não tema, Listen. Não sou tolo de destruir um dos animaizinhos preferidos da imperatriz, mesmo que por acidente. Você e os seus irão sobreviver. Eu de repente reconheci o som de tenor da energia que se acumulava na concha gigantesca no chão, e meu coração quase parou. Cacete. O senhor Sapo tinha feito uma bomba. Tipo, bem ali. – Minha vida pertence a meus senhores, a ser gasta como eles desejarem, meu senhor – falou Listen. – Tem mais alguma instrução? – Confisque dos mortos todos os tesouros que puder antes de partirmos. Listen baixou a cabeça. – Quão eficaz prevê que seu presente será? – Aquele que eu preparei para a Corte Vermelha no Congo foi suficientemente mortal – recordou o senhor Sapo, com um tom satisfeito na voz. Meu coração acelerou ainda mais. Durante sua guerra contra o Conselho Branco, a Corte Vermelha usara algum tipo de gás dos nervos num hospital que cuidava de magos feridos. A arma matara dezenas de milhares de pessoas numa cidade muito menor e menos lotada do que Chicago. Meus pés nus pareceram pequenos e frios. O senhor Sapo grunhiu e agitou os dedos, e a concha-bomba desapareceu, escondida por um véu tão bom quanto qualquer coisa que eu pudesse fazer. O lorde fomor baixou a mão de repente, sorrindo. – Traga minhas roupas. Os golas rulê vestiram lorde Sapo no que poderia ser o manto de maior mau gosto na história dos mantos. Múltiplas cores dançavam sobre ele em padronagens como ondas na água, mas pareciam aleatórias, se chocando umas com as outras. Era bordado com pérolas, algumas delas grandes como bolas de pingue-pongue. Depois disso, colocaram em sua cabeça um círculo à guisa de coroa, e então lorde Sapo e companhia foram para a porta. Eu me agachei o mais distante possível, quase sob o frigobar, com Andi se encolhendo ao meu lado, segurando apertado meu véu. Lorde Sapo passou bem ao meu lado, com os golas rulê caminhando em fila de dois atrás dele, seus movimentos precisos e uniformes – até que um da última dupla parou, a mão mantendo a porta aberta. Era Listen. Seus olhos varreram a sala lentamente, e ele franziu o cenho. – O que é? – perguntou o outro gola rulê.
– Sente cheiro de alguma coisa? – perguntou Listen. – Como o quê? – Perfume. Ah, bosta. Fechei os olhos e me concentrei freneticamente em minha sugestão, adicionando toques de ansiedade, tentando mantê-la fina demais para que Listen captasse. – Eu nunca gostei realmente de perfume. Não deveríamos ficar tão distante do senhor – respondeu o outro gola rulê. Listen escutou um momento mais antes de anuir e começar a sair. – Molly! – disse a voz de Justine claramente no cristal enfiado no vestido. – Miss Gard surtou há uns dois minutos e levou Marcone daqui. A segurança está agitada. Algumas vezes, acho que minha vida é toda sobre momentos errados. Listen deu meia-volta na nossa direção imediatamente, mas Andi foi mais rápida. Ela decolou do piso em um salto de três metros e se jogou contra a porta, fechando-a com todo o peso de seu corpo. Numa fração de segundo era novamente uma garota humana nua, empurrando a porta enquanto esticava a mão e passava a tranca. Tirei o cristal do vestido e disse: – Há uma bomba nas instalações, na ala de convidados. Eu repito, uma bomba na ala de convidados, nos aposentos do embaixador fomor. Encontre Etri ou um dos outros svartalves e diga a eles que fomor está planejando assassinar os convidados deles. – Ah, meu Deus – disse Justine. – Cacete! – se intrometeu Butters. Algo pesado e rápido bateu na porta do outro lado, e ela sacudiu no batente. Andi foi jogada alguns centímetros longe dela, e se recompôs, apertando o ombro para reforçar. – Molly! Era outra daquelas situações nas quais o pânico pode fazer com que você seja morta. Então, embora eu quisesse berrar e correr em círculos, o que fiz foi fechar os olhos por um momento enquanto desfazia o véu e respirava fundo lentamente, organizando os pensamentos. Primeiro: se Sapo e os gola rulê conseguissem voltar para o quarto, nos matariam. Já havia pelo menos quatro corpos mortos na suíte. Por que não acrescentar mais dois? E, considerando tudo, eles provavelmente seriam capazes de fazer isso. Então, a prioridade número um era mantê-los fora do quarto, pelo menos até que os svartalves dessem um jeito nas coisas. Segundo: a bomba. Se aquela coisa explodisse, e fosse algum tipo de agente dos nervos como a Corte Vermelha usara na África, as baixas seriam na casa de centenas de milhares, incluindo Andi, Thomas e Justine – mais Butters e Marci, que esperavam no carro do lado de fora. A bomba tinha de ser desarmada ou transferida para algum lugar seguro. Ah, e ela provavelmente precisava não estar invisível para que essas coisas pudessem acontecer. Terceiro: resgatar Thomas. Não posso me esquecer da missão, independentemente de como as coisas fiquem complicadas. A porta sacudiu mais uma vez. – Molly! – berrou Andi, seu medo tornando sua voz vibrante, cortante. – Maldição. O que Harry faria? Se Harry estivesse ali ele manteria fechada a porta idiota. Seus talentos mágicos foram fortes como os de um super-herói no que dizia respeito a conseguir gerar um enorme volume de energia. Estou certa de que ele teria conseguido deter uma locomotiva acelerada. Ou pelo menos um caminhão acelerado. Mas meus talentos não chegavam ao mundo físico. Harry uma vez me contara que, quando você tinha um problema, tinha um problema – mas quando se tinha vários problemas, também podia ter várias soluções. Eu me levantei e deslizei as varinhas para as mãos, apertando-as com força. Olhei para a porta e disse: – Prepare-se. Andi me lançou um olhar. – Para o quê? – Para abrir a porta – respondi. – Depois fechá-la atrás de mim. – O quê? – Feche os olhos. No três – ordenei, e flexionei levemente os joelhos. – Um! A porta sacudiu. – Dois! – Você enlouqueceu? – perguntou Andi. – Três! – berrei e corri na direção da porta, erguendo as duas varinhas. Andi apertou os olhos e abriu a porta, e usei o Frenesi de Uma Mulher. Canalizando minha energia, luz e som explodiram das pontas das duas varinhas. Não luz como de um flash – mais como a luz de uma pequena explosão nuclear. O som não era alto como um berro ou uma pequena explosão, ou mesmo o uivo de um trem de passagem. Era como ficar de pé no convés de um daqueles velhos navios de guerra de Segunda Guerra Mundial quando disparavam seus grandes canhões – uma força capaz de deixar atônito um homem adulto e jogá-lo de bunda no chão. Eu investi com uma parede de som e uma luz furiosa abrindo caminho, e saltei para o corredor em meio às formas espalhadas dos golas rulê chocados e tontos. E então comecei a jogar sujo. Alguns segundos depois os golas rulê caídos estavam de pé, embora parecessem um pouco desorientados e piscassem os olhos. Mais à frente no corredor um deles ajudava lorde Sapo a se levantar, os cabelos escorridos desgrenhados, as roupas amarrotadas. Seu rosto feio estava retorcido de fúria. – O que está acontecendo aqui, Listen? – cobrou ele. Estava berrando com toda força. Duvido que seus ouvidos estivessem funcionando muito bem. – Meu senhor – disse Listen. – Acredito que isto seja mais um trabalho da Dama Esfarrapada. – O quê?! Fale alto, idiota! A bochecha de Listen esboçou um esgar. Depois ele repetiu, gritando. Sapo soltou um sibilo.
– Vagabunda intrometida – rosnou. – Arrebente aquela porta e me traga o coração dela. – Sim, meu senhor – falou Listen, e os golas rulê se reuniram junto à porta do quarto 8. Não usaram ferramenta. Não precisavam de nenhuma. Simplesmente começaram a chutar a porta, três de cada vez, trabalhando juntos, enfiando os calcanhares dos sapatos na madeira. Com três chutes, rachaduras começaram a surgir e a porta gemeu. Com cinco ela quebrou e girou nas dobradiças. – Matem-na! – rosnou lorde Sapo, se aproximando da porta quebrada. –Matem-na! Todos com exceção de dois dos golas rulê entraram no quarto. Por trás do meu véu renovado, eu calculava que era quase hora de encerrar minha ilusão quando a porta bateu novamente depois que eles tinham passado. O número 8 de prata pendurado na porta ficou borrado e derreteu voltando a ser um número 6 de prata. Os olhos de lorde Sapo se arregalaram com uma repentina compreensão chocada. Um dos golas rulê voou para trás pela porta do quarto 6 e bateu na parede do outro lado. Bateu como uma boneca de pano e deslizou para o chão. Havia o perfil de um corpo no mármore rachado e salpicos de sangue novo na parede atrás dele. E do outro lado da porta quebrada, o vampiro Thomas Raith disse: – É Listen, certo? Uau. Vocês, palhaços, sempre escolhem o quarto errado. – Cometemos um equívoco – explicou Listen. – Sim. Sim, cometeram. E as coisas começaram a ficar esmagadas e batidas no quarto além. Lorde Sapo sibilou e virou a enorme cabeça em seu pescoço comprido. – Vagabunda esfarrapada – sibilou. – Sei que você está aqui. Dessa vez, eu sabia exatamente o que Harry faria. Ergui minha varinha sônica e direcionei minha voz até o final do corredor, atrás dele. – Aqui estou, Sapo. É tão difícil quanto parece sustentar clichês de vilão, ou é algo natural para você? – Você ousa debochar de mim? – rosnou o fomor. Ele lançou pelo corredor uma espiral de energia verde-escura, que chiou e deixou marcas de queimadura em tudo que tocou, terminando nas portas. Quando bateu nelas, houve um som rosnado e estalado, e a luz verde se espalhou sobre a superfície formando um padrão de rede de pesca. – Difícil fazer qualquer outra coisa com um sujeito com uma cara como a sua –falei, dessa vez bem ao lado dele. – Você matou aquelas garotas ou elas se apresentaram como voluntárias depois de ver você sem camisa? O fomor rosnou e golpeou o ar ao lado. Depois, apertou os olhos e começou a murmurar e agitar seus dedos chatos em padrões complicados. De imediato, pude sentir a energia emanando dele, e soube o que tentava fazer – desmontar meu véu. Mas passei meses fazendo esse jogo com tia Lea. Lorde Sapo não passou. Enquanto seus fios de magia investigativos se espalhavam, enviei sussurros de meu próprio poder para tocá-los de leve, guiando cada um deles para fora e ao redor da área coberta por meu véu. Eu não podia permitir que me encontrasse. Não assim, pelo menos. Ele não estava pensando e, se eu não o fizesse pensar, era possível que ele fosse idiota demais para enganar. Eu também não podia fazer com que desistisse e partisse, então quando tive certeza de que prejudicara sua busca, usei a varinha sônica de novo, dessa vez apontando bem acima de sua cabeça. – Esse tipo de coisa não é para amadores. Tem certeza de que não quer desistir e deixar que Listen tente? Lorde Sapo virou a cabeça para cima, apertou os olhos. Ergueu a mão, cuspiu uma palavra sibilada e fogo saltou de seus dedos para envolver o teto acima. Levou uns dois segundos para o alarme de incêndio disparar, e mais dois para o sistema de sprinklers entrar em ação. Mas eu estava de volta à porta do quarto 8 quando a água que caía começou a dissolver meu véu. A magia é um tipo de energia e obedece às suas próprias leis. Uma dessas leis é a de que a água tende a derrubar construções mágicas ativas, e meu véu começou a dissolver como se fosse feito de algodão-doce. – Rá – cuspiu o fomor, me vendo. Eu o vi lançar um raio de luz víride contra mim. Eu me joguei de barriga no chão e ele passou por cima de mim, batendo na porta. Virei de costas, bem a tempo de erguer um escudo contra um segundo raio e um terceiro. Meus escudos físicos não são grandes, mas o feitiço do fomor era pura energia, e isso tornou tudo mais fácil de lidar. Desviei os raios para a esquerda e para a direita, e eles arrancaram pedaços de mármore do tamanho de tijolos quando acertaram as paredes. Os olhos de lorde Sapo ficaram ainda maiores e mais furiosos por ter errado. – Vaca mortal! Certo. Isso machucou. Quero dizer, talvez seja um pouco raso e talvez seja um pouco mesquinho, e talvez mostre uma falta de caráter de algum modo que o insulto de Sapo à minha aparência me incomodou mais que a tentativa de homicídio. – Vaca?– rosnei enquanto a água do sistema de sprinklers começava a me deixar encharcada. – Eu arraso neste vestido! Soltei uma das minhas varinhas e estiquei a palma da mão na direção dele, enviando um raio invisível de pura memória, estreito e concentrado com magia, como luz passando por uma lente de aumento. Às vezes, você não se lembra muito bem de ferimentos traumáticos, e minha lembrança de levar um tiro na perna era muito indistinta. Não tinha doído tanto quando eu fora baleada e tinha outras coisas ocupando minha atenção. Eu apenas ficara surpresa, e depois insensível – mas quando eles estavam cuidando do ferimento no helicóptero, depois, aquilo foi dor. Eles arrancaram a bala com fórceps, limparam o local com algo que queimava como o próprio inferno e quando colocaram a atadura de pressão e apertaram as faixas, doeu tanto que achei que iria morrer. Foi isso que dei a lorde Sapo, com toda a força que consegui reunir. Ele teceu um escudo contra o ataque, mas acho que ele não estava acostumado a lidar com algo tão intangível quanto memória. Mesmo enfraquecido pela água que caía, senti o golpe atravessar suas defesas e penetrar, e Sapo de repente soltou um guincho agudo. Ele cambaleou e bateu com força na parede, agarrando a perna. – Matem-na! – ordenou, a voz dois oitavos mais alta que momentos antes. – Matem-na, matem-na, matem-na! A dupla remanescente de golas rulê no corredor se lançou na minha direção. Uma onda de fadiga pelo meu esforço recente, especialmente o último, quase me manteve grudada no chão – mas consegui me levantar, me joguei na porta do quarto 8 e bati nela com um punho. – Andi! Andi, é Molly! Andi, me deixe... A porta se abriu de repente e caí dentro do quarto. Puxei as pernas para uma posição fetal e Andi bateu a porta atrás de mim e passou as trancas. – Mas que porra, Molly? – reagiu ela. Andi estava encharcada, juntamente com tudo mais na sala, incluindo a bomba de fomor. Eu me levantei e cambaleei até ela. – Não consegui eliminar o véu sobre a bomba por fora – falei, ofegante. – Não tínhamos tempo para fazer fogo, e eu não conseguia usar o suficiente do meu próprio para disparar os alarmes. Tive de levar Sapo a fazer isso por mim. A porta estremeceu mais uma vez sob os golpes dos golas rulê. – Detenha-os – pedi. – Eu desarmo a bomba. – Você consegue fazer isso? – perguntou Andi. – Moleza – menti. – Certo – disse Andi. Fez uma careta. – Vou passar a noite toda cheirando a cachorro molhado. Ela se virou para encarar a porta em posição de defesa enquanto eu chegava à concha gigante. Expulsei de meus pensamentos os inimigos investindo sobre a porta e concentrei toda a minha atenção na concha diante de mim. Projetei meus sentidos na sua direção e comecei a sentir a energia que corria por ela. Havia muita energia envolvida naquela coisa, poder estocado do lado de dentro e pronto para explodir. Uma camada fina de encantamento cobria o exterior da concha, meio que o equivalente mágico de um painel de controle. A água a estava gastando aos poucos, mas não rápido o bastante para começar a derreter o encanto central e dispersar a energia acumulada. No entanto, se eu não agisse rápido a água iria destruir o encanto superficial e tornar impossível a qualquer um desarmar a bomba. Fechei os olhos e coloquei uma das mãos acima da concha como Sapo tinha feito. Pude sentir a energia se estendendo até meus dedos, pronta para reagir, e comecei a verter minha própria energia para ela, tentando sentir a solução. Era um feitiço objetivo, nada complicado, mas eu não sabia o que aquilo fazia – era como ter um controle remoto de TV no qual alguém tivesse se esquecido de marcar os botões. Eu não podia sair apertando aleatoriamente. Por outro lado, eu também não podia não fazer isso. Tinha de ser um chute embasado. Num controle remoto, o botão de ligar quase sempre está um pouco afastado dos outros, ou então mais ou menos no centro. Era o que eu estava procurando – para desligar a bomba. Comecei eliminando todas as partes do feitiço que pareciam complexas demais ou pequenas demais, reduzindo minhas escolhas pouco a pouco. Ficaram limitadas a duas. Se eu escolhesse errado... Dei um risinho nervoso. – Ei, Andi. Fio azul ou fio vermelho? O pé de um gola rulê abriu um buraco na porta, e Andi virou a cabeça para me lançar um olhar incrédulo. – Você está de sacanagem, comigo? – gritou ela. – Azul, você sempre corta o azul! Metade da porta se partiu e caiu no chão. Andi se dissolveu em sua forma de loba e se lançou para frente, atacando o primeiro gola rulê que tentou entrar. Voltei minha atenção para a bomba e escolhi a segunda opção. Concentrei minha força de vontade nela. Precisei de duas tentativas, porque estava aterrorizada, e medo de molhar as calças em geral não produz lucidez. – Ei, Deus – sussurrei. – Sei que não temos conversado muito ultimamente, mas se pudesse me dar uma força aqui, isso seria bem impressionante para um monte de gente. Por favor, permita que eu esteja certa. Cortei o fio azul. Nada aconteceu. Eu tive uma pesada e quase paralisante onda de alívio – e então lorde Sapo pulou por cima dos dois golas rulê que lutavam com Andi e caiu em cima de mim. Eu caí com força no piso de mármore e Sapo me segurou, me prendendo com seu corpo macilento demais. Enrolou os dedos de uma das mãos em meu pescoço, sobrando o suficiente para eles circularem seu polegar, e apertou. Ele era horrendamente forte. Minha respiração parou no mesmo instante e minha cabeça começou a latejar, minha visão a escurecer. – Piranhazinha – sibilou ele. Começou a me socar com a outra mão. Os golpes acertavam meu maxilar esquerdo. Deveria doer, mas eu achava que havia algo errado com meu cérebro. Registrei o impacto, mas tudo mais foi engolido pela escuridão crescente. Eu podia me sentir lutando, mas não chegava a lugar nenhum. Sapo era muito, muito mais forte do que parecia. Meus olhos não faziam foco muito bem, mas me vi olhando para um túnel escuro na direção de uma das garotas mortas no chão do quarto e a tira de hematoma roxo-escuro ao redor de sua garganta. Então, o piso a pouca distância tremeu e uma criatura de aparência estranha saiu dele. O svartalf tinha um pouco mais de um metro e estava nu. Sua pele tinha um tom malhado de cinza, e os olhos eram enormes e pretos. A cabeça era um pouco mais larga que a da maioria das pessoas, e ele era careca, embora as sobrancelhas fossem brancas como prata. Ele meio que parecia Roswelliano, só que em vez de supermagro tinha o físico de um pugilista profissional, magro e forte – e levava na mão uma espada simples. – Fomor – disse o svartalf calmamente. Eu reconheci a voz do sr. Etri. – Não se deve bater nas damas. Sapo começou a dizer alguma coisa, mas então a espada de Etri se moveu secamente e a mão que arrancava a vida de mim foi cortada no pulso. Sapo berrou e saiu de cima de mim, cuspindo palavras e tentando reunir poder enquanto se afastava sobre três membros. – Você violou o direito do convidado – continuou Etri calmamente. Ele fez um gesto e o mármore abaixo de lorde Sapo de repente ficou líquido. Sapo afundou uns oito centímetros, e então o piso endureceu ao redor dele novamente. O fomor berrou. – Você atacou convidados sob a hospitalidade e a proteção de Svartalfheim – o tom de voz de Etri nunca se alterando. A espada se moveu de novo e arrancou o nariz do rosto de Sapo, espalhando fluidos por toda parte e produzindo ainda mais uivos. Etri ficou de pé acima do fomor caído, olhando para ele sem qualquer expressão no rosto. – Tem algo a dizer em sua defesa? – Não! – berrou Sapo. – Você não pode fazer isto! Eu não feri ninguém do seu povo! Houve um impulso de ódio tão quente vindo de Etri que achei que a água que caía se transformaria em vapor quando o atingisse. – Ferir a nós? – perguntou ele em voz baixa. Deu uma espiada na concha e depois se voltou para Sapo com total desprezo. – Você teria usado nossa aliança como um pretexto para assassinar milhares de inocentes, fazendo de nós seus cúmplices. Ele agachou para colocar o rosto a centímetros do de Sapo, e disse numa voz calma, baixa, impiedosa. – Você manchou a honra de Svartalfheim. – Eu pagarei por isso! – gaguejou Sapo. – Vocês serão indenizados por seus problemas! – Só há um preço pelos seus atos, fomor. E não há negociação. – Não – protestou Sapo. – Não. NÃO! Etri deu as costas a ele e examinou o quarto. Andi ainda estava em forma de loba. Um dos golas rulê sangrava no piso de mármore, os sprinklers espalhando o sangue numa poça enorme. O outro estava encolhido no canto com os braços sobre a cabeça, coberto de ferimentos que sangravam. Andi o encarou, ofegante, sangue pingando das presas avermelhadas, um rosnado constante fervendo em seu peito. Etri se virou para mim e estendeu a mão. Agradeci e deixei que ele me colocasse sentada. Minha garganta doía. Minha cabeça doía. Meu rosto doía. – Peço desculpas por interferir em sua luta – falou Etri. – Por favor, não suponha que fiz isso por considerá-la incapaz de se proteger. Minha voz saiu num coaxado. – É sua casa, e sua honra estava em jogo. Você tinha o direito. A resposta pareceu agradá-lo, e ele inclinou um pouco a cabeça. – Eu me desculpo ainda por não cuidar desta questão eu mesmo. Não era sua responsabilidade descobrir ou impedir a ação deste lixo. – Foi presunçoso de minha parte – confessei. – Mas havia muito pouco tempo para agir. – Sua aliada nos alertou para o perigo. Você não fez nada inadequado. Svartalfheim lhe agradece por sua ajuda na questão. Tem a seu crédito um favor. Eu estava prestes a dizer a ele que tal coisa não era necessária, mas me contive. Etri não estava dizendo banalidades. Aquele não era um diálogo amigável. Era uma auditoria, uma contabilidade. Eu inclinei a cabeça na direção dele. – Obrigada, sr. Etri. – De nada, srta. Carpenter. Svartalves uniformizados, misturados a seguranças mortais, entraram no quarto. Etri foi até eles e deu instruções em voz baixa. O fomor e seus servos foram reunidos e levados do quarto. – O que irá acontecer a eles? – perguntei a Etri. – Vamos fazer dos fomor um exemplo. – E quanto ao seu tratado? – Ele nunca foi assinado. Principalmente por sua causa, srta. Carpenter. Embora Svartalfheim não pague dívidas que nunca foram contraídas, apreciamos seu papel nesta questão. Isso será levado em conta no futuro. – Os fomor não merecem um aliado honrado. – Aparentemente não. – E quanto aos golas rulê? – O que há com eles? – Vocês irão... lidar com eles? Etri olhou para mim. – Por que lidaríamos? – Eles meio que estavam envolvidos nisso. – Eles eram propriedade. Se um homem a golpeia com um martelo, o homem é punido. Não há razão para destruir o martelo. Não ligamos para eles. – E quanto a elas? – perguntei, e apontei com a cabeça para as garotas mortas nos aposentos do fomor. – Você liga para o que aconteceu a elas? Etri olhou para elas e suspirou. – Coisas belas não deveriam ser destruídas. Mas elas não eram nossas convidadas. Não devemos a ninguém por seu fim, e não responderemos por isso. – Há um vampiro sob sua custódia, não há? Etri me olhou por um momento e então disse: – Sim. – Você me deve um favor. Eu gostaria de garantir a libertação dele. Ele ergueu uma sobrancelha. – Venha comigo. Eu segui Etri para fora da suíte e pelo corredor até o quarto 6. Embora a porta estivesse quebrada, Etri parou do lado de fora respeitosamente e bateu. Um momento depois uma voz feminina disse: – Pode entrar. Nós entramos. Era uma suíte muito parecida com a do fomor, apenas com mais travesseiros jogados e móveis elegantes. Estava um horror. O piso estava literalmente coberto de móveis estilhaçados, objetos de decoração partidos e golas rulê quebrados. A segurança svartalf já os estava prendendo e levando para fora do quarto. Listen saiu sozinho, as mãos às costas, um dos olhos inchado e quase fechado. Ele me encarou ao passar e não disse nada. Escroto.
Etri se virou para a porta com cortina do quarto da suíte e falou: – A aprendiz mortal que nos alertou conquistou um favor. Ela pede a libertação do vampiro. – Impossível – respondeu a voz feminina. – Essa conta já foi encerrada. Etri se virou para mim e deu de ombros. – Lamento. – Espere. Eu posso falar com ele? – Num instante. Esperamos. Thomas apareceu na passagem para o quarto vestindo um roupão preto felpudo. Acabara de sair do chuveiro. Thomas talvez tivesse pouco menos de um metro e oitenta, e não havia um centímetro de seu corpo que não berrasse símbolo sexual. Seus olhos eram um tom de azul profundo cristalino, e seus cabelos escuros caíam sobre os ombros largos. Meu corpo fez o que sempre fazia perto dele e começou a gritar comigo para produzir bebês. Eu o ignorei. Em grande medida. – Molly, você está bem? – perguntou Thomas. – Nada que um balde de aspirinas não resolva. E você? Está bem? – Por que não estaria? – Eu achei... Você sabe. Que você tinha sido capturado espionando. – Bem, certamente. – Achei que eles iriam... fazer de você um exemplo. – Por que eles fariam isso? A porta do quarto se abriu e uma svartalf apareceu. Parecia muito com Etri – pequena e bonita, embora tivesse compridos cabelos prateados em vez de uma bola de bilhar. Vestia o que parecia ter sido a camisa de Thomas, e ela chegava quase aos tornozelos. Tinha um olhar decididamente... satisfeito. Atrás dela, vi vários outros conjuntos de grandes olhos escuros olhando para fora do quarto mergulhado em sombras. – Ah – eu disse. – Ah. Você... fez um acordo. Thomas deu um sorriso. – É um trabalho duro e sujo... – E um que não está terminado – disse a svartalf. – Você é nosso até o amanhecer. Thomas olhou de mim para o quarto e de volta, e estendeu as mãos. – Você sabe como é, Molly. O dever chama. – Claro – falei. – O que quer que eu diga a Justine? Ele me lançou um olhar de quase incompreensão. – A verdade. O que mais?
– Ah, graças a Deus – falou Justine enquanto saíamos. – Eu estava com medo que eles o tivessem feito passar fome. – Seu namorado está transando num quarto cheio de garotas elfo e você está contente com isso? Justine jogou a cabeça para trás e riu. – Quando você ama um íncubo, isso altera um pouco sua perspectiva, acho.
Não é como se isso fosse novidade. Sei como ele se sente comigo, e ele precisa ser alimentado para ficar saudável. Então, qual é o problema? Além disso, ele sempre está pronto para mais. – Você é uma pessoa muito esquisita, Justine. Andi bufou e me deu uma cotovelada amigável. Ela tinha recuperado o vestido e os sapatos de que gostara. – Olhe só quem fala.
Depois que todos estavam seguros em casa, caminhei do apartamento de Waldo até a garagem mais próxima. Encontrei um canto escuro, me sentei e esperei. Lea surgiu brilhando cerca de duas horas depois e se sentou ao meu lado. – Você me enganou – falei. – Você me mandou para lá às cegas. – De fato. Exatamente como Lara fez com o irmão; com a diferença de que meu agente teve sucesso enquanto o dela fracassou. – Mas por quê? Por que nos mandar para lá? – Não era possível permitir que o tratado com os fomor fosse concluído – explicou. – Se uma nação concordasse em permanecer neutra em relação a eles, uma dúzia mais seguiria. Os fomor seriam capazes de dividir as outras e combatê-las uma após a outra. A situação era delicada. A presença de agentes ativos tinha o objetivo de perturbar o equilíbrio; mostrar a verdadeira natureza dos fomor numa prova de fogo. – Mas por que você não me contou isso? – Porque você não teria nem confiado nem acreditado em mim. – Você deveria ter me contado de qualquer forma. – Não seja ridícula, criança – fungou Lea. – Não havia tempo para aplacar suas dúvidas e suspeitas, suas teorias e perguntas intermináveis. Melhor lhe dar um prêmio simples no qual se concentrar: Thomas. – Como você sabia que eu iria encontrar a bomba? Ela ergueu uma sobrancelha. – Bomba? – perguntou, e balançou a cabeça. – Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas os fomor são traiçoeiros. Sempre foram e sempre serão. A única dúvida é qual a forma que sua traição assumirá. Os svartalves tinham de ver isso. – Como sabia que eu iria descobrir? – Não sabia. Mas conheço seu mentor. No que diz respeito a interferir, desenterrar verdades constrangedoras, ele a ensinou muito bem – confessou, e sorriu. – Você também aprendeu a aptidão dele de pegar situações ordeiras e reduzi-las ao caos elementar. – Significando o quê? O sorriso dela era enlouquecedoramente arrogante. – Significando que eu tinha confiança de que o que quer que acontecesse, não incluiria uma conclusão serena do tratado. – Mas você poderia ter feito tudo o que fiz. – Não, criança. Os svartalves nunca teriam me convidado para a recepção. Eles adoram elegância e ordem. Teriam sabido que meus objetivos não eram ordeiros. – E eles não sabiam isso sobre mim? – Eles não podem julgar os outros a não ser por seus atos. Daí seu tratado com os fomor, que ainda não tinham atravessado seu caminho. Meus atos mostraram que eu sou alguém que deve ser tratada com cautela. Você tinha... um registro limpo com eles. E você é um tesão. Tudo está bem, sua cidade foi salva, e agora um grupo de seres ricos, habilidosos e influentes lhe deve um favor. Ela fez uma breve pausa e depois se inclinou levemente na minha direção. – Talvez uma expressão de gratidão seja adequada. – De mim para com você? Pelo quê? – Acho que sua noite acabou muito bem – comentou Lea com as sobrancelhas erguidas. – Mas, por Deus, você é uma criança difícil. Nunca saberei como ele consegue suportar a sua insolência. Você acha que merece alguma recompensa de mim. Ela se levantou e virou para partir. – Espere! – falei. Ela parou. Achei que meu coração tinha parado de bater. Comecei a tremer, o corpo todo. – Você disse que conhece Harry. Não que o conhecia. Conhece. Presente. – Mesmo? – Disse que não sabe como ele consegue me aturar. Consegue. Presente. – Mesmo? – Tia... Harry está... Ele está vivo? – perguntei, e mal conseguia sussurrar. Lea se virou para mim muito lentamente, e seus olhos cintilavam com um conhecimento malicioso verde. – Eu não disse que ele estava vivo, criança. Nem você deveria. Ainda não. Eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Ou a rir. Ou ambos. Não sabia dizer. Lea não ficou esperando por isso. Demonstrações de emoção a deixavam desconfortável. Harry. Vivo. Eu não o matara. A melhor de todas as recompensas. – Obrigada, tia – sussurrei. – Obrigada.
.
.
CARRIE VAUGHN
Autora de uma série de romances altamente populares que narram as aventuras de Kitty Norville, apresentadora de um programa de rádio que dá conselhos para ouvintes sobre criaturas sobrenaturais, e que por acaso também é lobisomem. Entre os livros de Kitty estão Kitty and the Midnight Hour, Kitty Goes to Washington, Kitty Takes a Holiday, Kitty and the Silver Bullet, Kitty and the Dead Man’s Hand, Kitty Raises Hell, Kitty’s House of Horrors, Kitty Goes to War e Kitty’s Big Trouble. Entre seus outros romances estão Voices of Dragons, sua primeira incursão na literatura jovem, e uma história de fantasia, Discord’s Apple. Seus contos foram publicados em Lightspeed, Asimov’s Science Fiction, Subterranean, na série “Wild Cards”, Realms of Fantasy, Jim Baen’s Universe, Paradox, Strange Horizons, Weird Tales, All-Star Zeppelin Adventure Stories. Entre suas obras mais recentes estão os romances After the Golden Age e Steel; uma antologia, Straying from the Path; um novo romance “Kitty”, Kitty Steals the Show; e uma coletânea de seus contos de “Kitty”, Kitty’s Greatest Hits. Em breve será lançado outro romance de “Kitty”, Kitty Rocks the House. Ela mora no Colorado. No conto realista e fascinante que se segue, ela nos leva à linha de frente na Rússia durante os dias mais duros da Segunda Guerra Mundial para contar a história de uma jovem piloto realizando as mais perigosas missões de combate e que está determinada a cumprir seu dever de soldado e continuar voando, mesmo que isso a mate – o que é muito possível.
.
.
RAISA STEPANOVA
Meu querido Davidya: Se você está lendo isto, significa que eu morri. É bem provável que tenha morrido lutando a serviço da pátria gloriosa. Pelo menos é o que eu espero. Tenho esse terrível pesadelo em que sou morta não no ar combatendo os fascistas, mas porque uma lâmina da hélice cai no instante em que estou passando embaixo do nariz do meu Yak e decepa minha cabeça. As pessoas se esforçariam muito para fingir ficar de luto, mas estariam rindo pelas minhas costas. Minhas costas mortas, então eu não notaria, mas ainda assim, o importante é o princípio da coisa. Certamente nada de Herói da União Soviética para mim, não é? Não importa, vamos supor que eu morri gloriosamente em batalha. Por favor , diga as coisas de hábito para meus pais, que eu estou feliz de dar minha vida para defender você e eles, Nina e a pátria, como todos estamos, e que se eu tive de morrer , fiquei muito feliz de que foi enquanto estava voando. Então, não fique triste por mim. Eu te amo. Sinceramente, Raisa.
– Raisa! – chamou Inna do lado de fora do abrigo subterrâneo. – Vamos sair! Vamos! – Só um minuto! – respondeu ela, e rabiscou algumas últimas linhas. P.S. Minha companheira de voo, Inna, ficará muito aborrecida se eu for morta. Ela achará que foi culpa dela, que ela não me protegeu. (Não será verdade, pois ela é uma excelente piloto e protetora.) Acho que você deveria fazer um esforço para consolá-la na primeira oportunidade. É uma ruiva. Você vai gostar dela. Quero dizer , gostar dela de verdade. Eu tenho uma foto sua no nosso abrigo e ela acha você bonito. Ela irá chorar no seu ombro, e será muito romântico, acredite em mim.
– Raisa! Raisa dobrou a página três vezes e a enfiou sob o cobertor de seu catre, onde seria encontrada caso ela não retornasse. O nome de David e seu regimento estavam escritos com clareza do lado de fora, e Inna saberia o que fazer com aquilo. Pegou casaco e capacete e correu com sua companheira até o campo de aviação, onde os aviões esperavam.
As duas partiram de Voronezh em patrulha de rotina e localizaram aviões inimigos antes mesmo de chegar à frente de combate. Raisa respirou devagar para não deixar o coração acelerar, permitindo que a calma chegasse às suas mãos para firmá-las enquanto seguravam o manche. – Raisa, está vendo aquilo? À sua direita? – perguntou a voz de Inna no rádio.
Ela voava atrás e à direita; Raisa não tinha de olhar para saber que estava lá. – Sim – disse Raisa, apertando os olhos para ver através da cúpula e contando. Mais aviões, pontos escuros deslizando em um céu enevoado, pareceram surgir enquanto ela fazia isso. Deveriam ser patrulhas para aviões de reconhecimento alemães, que só apareciam sozinhos ou em dupla de cada vez. Aquilo... Aquele era um esquadrão inteiro. O perfil dos aviões ficou mais claro – bimotores, cúpula no alto, fuselagem comprida com cruzes pretas pintadas. Ela passou um rádio para Inna. – São Junkers! É uma missão de bombardeio! Ela contou dezesseis bombardeiros – o alvo deles poderia ser qualquer das dezenas de acampamentos, depósitos de suprimentos ou estações ferroviárias ao longo daquele trecho da frente. Eles não estavam esperando resistência. – O que fazemos? – perguntou Inna. Aquilo estava fora dos parâmetros de sua missão, e elas estavam em tão pequeno número que era ridículo. Por outro lado, o que mais deveriam fazer? Os alemães teriam jogado suas bombas antes que o 586o conseguisse reunir mais caças. – O que você acha? – respondeu Raisa. – Nós os impedimos! – Estou com você. Raisa acelerou e empurrou o manche para a frente. O motor roncou e sacudiu a cabine ao redor dela. O Yak se lançou à frente, o céu se tornando um borrão acima. Uma espiada por sobre o ombro e ela viu o caça de Inna logo atrás. Apontou para o meio da esquadrilha alemã. Bombardeiros isolados ficaram grandes muito rapidamente, tomando o céu à sua frente. Continuou avançando, como uma flecha, até ela e Inna estarem ao alcance. Os bombardeiros se espalharam, como se tivessem sido soprados por um vento. Aviões nos limites da formação se afastaram e aqueles no meio subiram e mergulharam aleatoriamente. Eles não esperavam que dois caças russos atirassem neles do nada. Ela escolheu um que tivera a infelicidade de desviar exatamente na sua direção, e firmou a mira nele. Disparou uma série de rajadas com o canhão de 20mm, errou quando o bombardeiro desviou para fora de alcance. Xingou. Balas passaram acima de sua cúpula; um atirador, devolvendo fogo. Ela fez uma manobra rápida, para a direita e para cima, atenta para não colidir. Era arriscado manobrar com todo aquele tráfego. O Yak era rápido – podia voar em círculo ao redor dos Junkers e não ficar preocupado com ser atingido por balas. Mas podia se chocar com um deles se não prestasse atenção suficiente. Tudo que ela e Inna tinham de fazer era impedir que o grupo chegasse ao seu alvo, mas se ela conseguisse derrubar um ou dois deles enquanto isso... Um segundo de cada vez, era a única forma de lidar com a situação. Continuar viva para poder fazer algum bem. O artilheiro inimigo atirou nela novamente, então Raisa reconheceu o som de outro canhão disparando. Uma bola de fogo se expandiu e morreu em sua visão periférica – um Junker, um dos motores se partindo. O avião sacudiu, desequilibrado, até cair num arco, deixando uma trilha de fumaça. Balançou uma ou duas vezes, o piloto tentando recuperar o controle, mas então o bombardeiro começou a rodopiar e tudo estava terminado. – Raisa! Eu o peguei, eu o peguei! – gritou Inna no rádio. Era a primeira derrubada dela em combate. – Excelente! Só faltam mais quinze! – Raisa Ivanova, você é terrível. A batalha parecia se arrastar, mas poucos segundos tinham se passado desde que haviam desfeito a formação. Elas não poderiam combater por muito mais tempo antes de ficar sem munição, e também sem combustível. Os últimos tiros tinham de valer, e depois ela e Inna teriam de correr. Depois desses últimos tiros, claro. Raisa escolheu outro alvo e manobrou para segui-lo. O bombardeiro subiu, mas era lento, e ela se aproximou com rapidez. Naquele momento, seus nervos cantavam e o instinto a guiava mais do que a razão. Apertou o gatilho com força antes que o inimigo estivesse inteiramente na mira, mas funcionou, pois o Junker deslizou para a linha de tiro no instante em que os tiros eram lançados. Ela abriu buracos nas asas e sobre o motor, que lançou fagulhas e começou a soltar fumaça. O avião não tinha como sobreviver, e o nariz se inclinou para a frente, a coisa toda saindo de controle. Inna comemorou por ela pelo rádio, mas Raisa já estava caçando seu alvo seguinte. Muitos entre os quais escolher. Os dois caças estavam cercados, e Raisa deveria estar assustada, mas só conseguia pensar em atingir o bombardeiro seguinte. E o próximo. Os Junkers lutaram para retomar a formação. O grupo espalhado e desorganizado baixara quinhentos metros da altitude original. Se os caças conseguissem forçar o esquadrão inteiro a baixar, seria uma vitória! Mas não, eles estavam acelerados, se desviando dos caças, lutando para escapar. Bombas caíram da barriga do avião líder, e logo os outros o acompanharam. As bombas explodiram numa floresta vazia, suas ondas de fumaça se elevando sem perigo. Elas tinham assustado os bombardeiros e os levado a lançar sua carga antecipadamente. Raisa sorriu. Sem mais nada em seus compartimentos de bombas e sem motivo para continuar, os Junkers se retiraram, dando a volta para oeste. Mais leves e mais rápidos, seriam mais difíceis de serem alcançados pelos caças. Mas também não iriam matar nenhum russo naquele dia. – Inna, vamos embora daqui – falou Raisa pelo rádio. – Entendido. Com Inna novamente ao seu lado, ela virou seu Yak rumo leste, para casa.
– Com isso são três abates confirmados no total, Stepanova. Mais dois e você será um ás. Raisa sorria tanto que os olhos estavam quase fechados. – Dificilmente poderíamos errar com tantos alvos para escolher.
Inna revirou um pouco os olhos, mas também estava radiante. Ela conseguira seu primeiro abate, e embora estivesse fazendo um belo trabalho tentando parecer humilde e digna no momento, pouco depois do pouso correra gritando até Raisa e a derrubara com um grande abraço. Muitos alemães mortos, e ambas tinham escapado da batalha. Não podiam ter muito mais sucesso do que aquilo. O comandante Gridnev, um jovem sério com um rosto parecido com o de um urso, estava revisando o papel datilografado em sua escrivaninha no maior abrigo do campo de aviação da 101a Divisão. – O alvo do esquadrão era uma estação ferroviária. Um batalhão de infantaria estava lá esperando transporte. Eles teriam sido mortos. Vocês salvaram muitas vidas. Ainda melhor. Extraordinário. Talvez Davidya estivesse lá e ela o tivesse salvado. Ela poderia se vangloriar disso em sua carta seguinte. – Obrigada, senhor. – Bom trabalho, meninas. Dispensadas. Fora do escritório do comandante elas correram de volta para casa, tropeçando em seus trajes de voo e jaquetas masculinos grandes demais. Uma dúzia de mulheres dividia o abrigo, que se você visse com os olhos apertados à luz fraca quase parecia um lar, com catres de ferro forjado, roupas de cama, paredes caiadas e mesas de madeira com alguns vasos de flores silvestres que alguém tinha colhido para decoração. Elas sempre murchavam rapidamente – não havia luz do sol do lado de dentro. Depois de um ano daquilo – indo de uma base para outra, de melhores condições para piores e então de volta –, elas se acostumaram aos insetos, aos ratos e ao estrondo de bombardeios distantes. Você aprendia a prestar atenção e a gostar das flores silvestres murchas ou enlouquecia. Embora isso também acontecesse às vezes. A segunda melhor coisa em ser uma piloto (sendo a primeira voar propriamente dito) era alojamento e rações melhores. E a cota de vodca por missões de combate. Inna e Raisa levaram as cadeiras para perto do forno para expulsar o resto do frio provocado pelo voo em altitude e bateram os copos num brinde. – À vitória – disse Inna, porque era tradição e dava sorte. – A voar – respondeu Raisa, porque acreditava.
Durante o jantar – um cozido ralo e pão velho preparado acima do fogareiro –, Raisa esperou os louvores dos camaradas e estava pronta para se entregar à sua admiração – mais dois abates e ela seria um ás; quem era melhor piloto de caça ou tinha melhor mira que ela? Mas não aconteceu exatamente assim. Katya e Tamara passaram pela porta, quase se chocando contra a mesa e derrubando o vaso de flores. Estavam coradas e arfando, como se tivessem corrido. – Você não adivinha o que aconteceu! – gritou Katya. Tamara falou por cima dela. – Acabamos de vir do operador de rádio; ele nos deu a notícia!
Os olhos de Raisa examinaram ao redor e ela quase derrubou a bandeja de pães que estava segurando. – Nós os fizemos recuar? Eles estão se retirando? – Não, não é isso – retrucou Katya, indignada, como se pensando em como alguém podia ser tão idiota. – Liliia marcou dois abates hoje! – exclamou Tamara. – Ela agora tem cinco. É um ás! Liliia Litviak . A linda e maravilhosa Liliia, que não errava nunca. Raisa se lembrou de seu primeiro dia no batalhão, quando Liliia apareceu, aquela mulher pequena com rosto perfeito e cabelos louros tingidos. Após semanas vivendo nos abrigos ela ainda tinha um rosto perfeito e cabelos louros tingidos, parecendo uma estrela do cinema americano. Ela era tão pequena que acharam que não poderia pilotar um Yak, não poderia servir na frente. Mas então ela subiu no avião e voou. Melhor que qualquer um deles. Até mesmo Raisa tinha de admitir isso, mas não em voz alta. Liliia pintou flores no nariz do seu caça e, em vez de debochar dela, todos acharam que era muito fofa. E agora era um ás. Raisa encarou. – Cinco abates. Sério? – Incontestável! Ela teve testemunhas; a notícia está correndo. Isso não é maravilhoso? Era maravilhoso, e Raisa se esforçou para dissimular, sorrindo, fazendo um brinde a Liliia e xingando os fascistas. Elas jantaram, discutiram sobre quando o clima iria mudar, se o inverno ainda tinha um pouco mais de gelo para elas ou se já estavam na umidade apenas fria da primavera. Ninguém falou sobre quando, ou se, a guerra iria terminar. Já havia passado dois anos desde que os alemães tinham invadido. Eles não avançaram mais nos meses anteriores, e os soviéticos fizeram progressos – reconquistando Voronezh, por exemplo, e avançando as operações por ali. Era algo. Mas Inna a conhecia bem demais para deixar para lá. – Você passou o jantar inteiro com a cara fechada – constatou ela, quando estavam se lavando do lado de fora, na escuridão, antes de deitar. – Não conseguiu disfarçar bem. Raisa suspirou. – Se eu tivesse sido mandada para Stalingrado teria tantos abates quanto ela. Teria mais. Teria me tornado um ás há meses. – Se você tivesse sido enviada para Stalingrado você estaria morta – disse Inna. – Prefiro você aqui e viva. – Estamos todos mortos. Todos nós na frente de batalha, todos estamos aqui para morrer; é só uma questão de tempo. Inna usava um gorro de tricô sobre os cabelos curtos, que se curvavam nas pontas. Isso, somado às sardas que pontilhavam suas bochechas, fazia com que ela parecesse um elfo. Os olhos eram escuros, os lábios uma linha soturna. Ela era sempre solene, séria. Sempre dizendo a Raisa quando suas piadas tinham ido longe demais. Inna nunca dizia nada de ruim sobre ninguém. – Logo terá terminado – falou para Raisa sob o céu nublado, nem mesmo uma lanterna fraca rompendo a escuridão, para que voos de reconhecimento alemães não os localizassem. – Tem de terminar logo. Com os britânicos e os americanos batendo de um lado e nós do outro, a Alemanha não poderá durar muito. Raisa anuiu. – Você está certa. Claro que está certa. Nós só temos de resistir o máximo que pudermos. – Sim. Isso é certo. Inna apertou o braço dela, depois voltou para o abrigo, e para um catre com cobertores finos demais, e para a correria dos ratos. Às vezes, Raisa olhava para a terra e as botas gastas, os rostos cansados e a falta de comida e acreditava que viveria assim pelo resto da vida.
Raisa chegou ao abrigo de comando para uma reunião – uma missão de combate, ela esperava, e uma chance de conseguir seus dois abates seguintes –, mas um dos operadores de rádio a puxou de lado antes que conseguisse entrar. Ela e Pavel costumavam trocar informações. Ela repassava as fofocas da linha de voo e ele transmitia qualquer notícia que tivesse recebido dos outros regimentos. Ele tinha as informações mais confiáveis da frente de batalha. Mais confiáveis até do que iriam receber de seu comando, pois os relatos oficiais que chegavam eram filtrados, modificados e manipulados até que dissessem o que os figurões queriam que pessoas como ela soubessem. Batalhões inteiros foram eliminados e ninguém sabia, porque os generais não queriam abalar o moral, ou algum outro absurdo. Naquele dia, Pavel estava pálido, e sua expressão era sombria. – O que foi? – perguntou ela, encarando-o, porque só poderia ser uma notícia ruim. Muito ruim, para que a procurasse. Ela pensou em David, claro. Tinha de ser sobre David. – Raisa Ivanovna. Eu tenho notícias... sobre seu irmão. A cabeça dela ficou leve, como se estivesse voando em rodopio, o mundo virando de cabeça para baixo ao seu redor. Mas permaneceu firme, não vacilou, determinada a superar os momentos seguintes com sua dignidade intacta. Podia fazer isso, por seu irmão. Embora ela devesse morrer primeiro. O perigo que corria no ar, pilotando aquelas armadilhas da morte contra Messerschimitts, era muito maior. Sempre se sentira muito segura de que ela iria morrer, que David seria aquele a permanecer firme enquanto recebia a notícia. – Diga – falou, e sua voz não vacilou. – O esquadrão dele entrou em combate. Ele... ele desapareceu em ação. Ela piscou. Não eram as palavras que estivera esperando. Mas aquilo... A frase mal fazia sentido. Como um soldado desaparecia? – ela queria saber. David não era um brinco ou um pedaço de papel a ser procurado por alguém. Sentiu seu rosto se tornar interrogativo, encarando Pavel em busca de uma explicação. – Raisa... Você está bem? – Desaparecido – repetiu. A informação e o que isso significava começaram a ficar claros.
– Sim – respondeu o operador de rádio, o tom se tornando desesperado. – Mas isso... Nem sei o que dizer. – Lamento, Raisa. Não vou contar a Gridnev. Não vou contar a ninguém até que chegue a notícia oficial. Talvez seu irmão apareça antes disso, e então não significará nada. O olhar de piedade envergonhado de Pavel era demais para suportar. Quando não houve resposta ele foi embora, se arrastando pela lama. Ela sabia no que ele estava pensando, o que todos pensariam, e o que iria acontecer em seguida. Ninguém diria isso em voz alta – não ousariam –, mas ela sabia. Desaparecido em combate; como seria muito melhor para todos se tivesse morrido. O camarada Stálin dera a ordem logo depois do início da guerra: “Não temos prisioneiros de guerra, apenas traidores da pátria.” Prisioneiros eram colaboradores, porque se fossem verdadeiros patriotas teriam morrido em vez de ser apanhados. Da mesma forma, soldados desaparecidos em combate eram considerados desertores. Se David de algum modo não reaparecesse no exército soviético, seria declarado traidor e sua família iria sofrer. Seus pais e sua irmã menor não receberiam rações nem ajuda. A própria Raisa seria no mínimo impedida de voar. Todos sofreriam, embora David estivesse caído morto no fundo de um pântano em algum lugar. Ela apertou o nariz para conter as lágrimas e entrou no abrigo para qualquer que fosse a informação que o comandante tinha para o voo. Não poderia dar a impressão de que havia algo errado. Mas teve dificuldade para se concentrar naquela manhã. David não era um traidor, mas não importava o quanto ela gritasse essa verdade do alto da montanha, não faria diferença. A não ser que ele aparecesse – ou um corpo fosse encontrado, provando que morrera em combate –, seria um traidor para sempre. Terrível desejar que um corpo fosse encontrado. Ela teve uma ânsia repentina de pegar uma arma – com as próprias mãos, na verdade, e não pelo cockpit de seu avião – e assassinar alguém. Stálin, talvez. Se alguém ali pudesse ler sua mente, ouvir seus pensamentos, ela seria impedida de voar e mandada para um campo de trabalhos forçados, se não executada imediatamente. Então, seus pais e sua irmã ficariam ainda pior, com dois traidores na família. Portanto, ela não podia pensar mal de Stálin. Deveria voltar sua raiva para o verdadeiro inimigo, aquele que tinha matado David. Se ele estivesse morto. Talvez não estivesse morto, apenas desaparecido, como dizia o relatório. Inna se sentou ao lado dela e tomou seu braço. – Raisa, o que há de errado? Você parece que vai explodir. – Não é nada – respondeu Raisa num sussurro.
Ela continuou a escrever cartas para David como se nada tivesse acontecido. Escrever a acalmava.
Querido Davidya: Mencionei que agora tenho três abates? Três. Quantos alemães você matou? Não responda isso, eu sei que irá me contar , e será mais, e sei que é mais difícil para você porque tem de encará-los com nada além de balas e baionetas, enquanto eu tenho meu belo Yak para me ajudar . Ainda assim, sinto que estou fazendo algo bom. Estou salvando as vidas de seus colegas da infantaria. Inna e eu impedimos que um esquadrão inteiro completasse sua missão de bombardeio, e isso é algo para se orgulhar . Estou muito preocupada com você, Davidya. Tento não ficar , mas é difícil. Mais dois abates e serei um ás. Mas não a primeira mulher a ser ás. Essa foi Liliia Litviak. A impressionante Liliia, que combateu em Stalingrado. Não sinto nenhum rancor dela. É uma ótima piloto, eu a vi voar . Eu nem diria que sou melhor . Mas sou tão boa quanto, sei que sou. Por falar nisso, você deveria saber , caso veja um retrato de Litviak nos jornais (ouvi dizer que os jornais estão falando muito nela, para que possa inspirar as tropas ou algo assim), que Inna é muito mais bonita. Difícil acreditar , eu sei, mas é verdade. Fico pensando se depois de meus dois próximos abates irão colocar minha foto no jornal. Você poderá dizer a todo mundo que me conhece. Se não ficar constrangido demais com sua irmãzinha com cara de rato. Recebi uma carta da mamãe, e estou preocupada, pois ela diz que papai está doente de novo. Achei que estava melhor; mas fica doente o tempo todo, não é? E não há comida suficiente. Ele deve dar toda a dele para Nina. É o que eu faria. Estou com medo de que mamãe não esteja me contando tudo por temer que eu não consiga aguentar . Você me diria, não é mesmo? Você acharia que eu tinha coisas demais com que me preocupar , que não deveria me preocupar também com as coisas em casa. Como sei cuidar de mim mesma, não se preocupe comigo. Temos comida e durmo bastante. Bem, durmo um pouco. Eu ouço as bombas às vezes, e é difícil pensar que eles não estarão aqui depois. Até a vista, Raisa.
Como dezenas de outras garotas, Raisa escrevera uma carta à famosa piloto Marina Raskova perguntando como poderia voar na guerra. A camarada Raskova escrevera de volta: estou organizando um batalhão feminino. Venha. Claro que Raisa foi. O pai ficara com raiva: queria que permanecesse em casa e trabalhasse numa fábrica – um trabalho bom, nobre, que sustentava o esforço de guerra tanto quanto pilotar um Yak. Mas a mãe olhara para ele e dissera em silêncio: deixe que ela ganhe asas enquanto pode. O pai não contradisse. Seu irmão mais velho, David, a fez prometer que escreveria para ele todos os dias, ou pelo menos toda semana, para que pudesse ficar de olho. Ela fez isso. Raisa foi colocada no regimento de caças, e pela primeira vez conheceu garotas como ela que entraram para o clube de aviação local, que tiveram de lutar pelo privilégio de aprender a voar. Em seu clube, Raisa fora a única garota. No início, os garotos não a levaram a sério, riram quando ela apareceu querendo fazer as aulas para conseguir a licença. Mas ela continuou a ir a todas as sessões, todos os encontros e todas as aulas. Eles tiveram de deixar que entrasse. Verdade seja dita, não a levaram a sério nem mesmo depois de ter feito voo solo e se saído melhor que qualquer deles na prova de navegação. Ela nunca disse em voz alta, mas o que a deixava furiosa era a hipocrisia de tudo. A grande experiência soviética com seus nobres princípios igualitários, que deveria levar a igualdade a todos, mesmo entre homens e mulheres, e ali estavam os garotos lhe dizendo para ir para casa, trabalhar numa fábrica com as outras mulheres, se casar e ter filhos, pois era o que as mulheres deveriam fazer. Elas não deveriam voar. Elas não podiam voar. Ela teve de provar várias vezes que estavam errados. Graças a Marina Raskova, que provou tanto por todas elas. Quando ela morreu – um acidente idiota em tempo ruim, pelo que Raisa ouvira –, as mulheres pilotos tiveram medo de ser dispensadas e enviadas para fábricas, para construir os aviões que deveriam estar pilotando. Raskova e suas ligações com os mais altos escalões – o próprio Stálin – eram o que mantinha as mulheres voando na frente de batalha. Mas aparentemente as mulheres tinham provado seu valor e não foram dispensadas. Continuaram pilotando e combatendo. Raisa prendeu na parede do abrigo uma fotografia de Raskova tirada de um jornal. A maioria das mulheres parava ali de vez em quando, dando um sorriso, ou às vezes em luto silencioso. Mais pilotos mortos tinham feito fila atrás dela desde então.
– Eu quero uma missão de combate, não trabalho de rotina – pediu Raisa a Gridnev. Não bateu continência, não disse “senhor”. Eles eram iguais a todos os cidadãos soviéticos, não eram? Ele lhe comunicara sua nova missão de voo fora do abrigo, sob rajadas de vento de primavera que Raisa mal notara. Deveriam seguir para suas aeronaves imediatamente, mas ela ficou para trás para discutir. Inna esperou a alguns metros de distância, nervosa e preocupada. – Stepanova. Eu preciso de pilotos em missão de escolta. Você está nela. – O plano de voo nos leva cem milhas além da linha de frente. Seu protegido não precisa de escolta, ele precisa de uma babá! – Então, você fará serviço de babá. – Comandante, eu só preciso daqueles outros dois abates... – Você precisa servir à pátria de qualquer modo que a pátria considere importante. – Mas... – Isto não é sobre você. Eu preciso de pilotos de escolta; você é piloto. Agora vá. Gridnev foi embora antes. Ela ficou olhando para ele, furiosa, querendo gritar. Não iria derrubar ninguém voando como escolta. Marchou para a linha de voo. Inna correu atrás dela. – Raisa, o que deu em você? Sua parceira vinha perguntando isso a cada hora desde o dia anterior, aparentemente. Raisa não conseguia esconder. E se não pudesse confiar em Inna, não poderia confiar em ninguém. – David desapareceu em combate – contou Raisa, e continuou andando. Inna abriu a boca, devidamente chocada e com pena, como Pavel tinha feito. – Ah... Ah, não. Eu lamento muito. – Não é nada. Mas vou ter de trabalhar em dobro, certo? Elas continuaram a ir em direção aos aviões, em silêncio.
As mãos de Raisa coçavam. Repousavam levemente no manche, e ela não tinha de fazer muito para se manter firme. O ar estava sereno, e elas – Inna, Katya e Tamara estavam nos outros caças – voavam quase em linha reta. Mas ela queria atirar em algo. Não haviam dito quem estava no Li-2 que protegiam, não que isso importasse. Mas ela imaginou que poderia ser o próprio Stálin. Ficou imaginando se teria coragem de passar um rádio para ele. “Camarada, deixe-me contar a você sobre meu irmão...” Mas os figurões não iriam pegar uma esquadrilha de mulheres pilotos da frente de batalha para proteger o premier. Não era ele. Não que seu VIP precisasse de proteção. Ali a coisa mais perigosa que enfrentava era o risco de outro piloto sair de formação e se chocar contra ela. Isso seria constrangedor. Pouco antes da decolagem, o operador de rádio levara a notícia de que Liliia conseguira outro abate. Seis abates confirmados. Os alemães pareciam estar fazendo fila pelo privilégio de ser abatidos pela bela Liliia. E ali estava Raisa, a milhas de distância da batalha, brincando de guardiã. Se morresse em batalha, heroicamente, com muitas testemunhas, deixando para trás um corpo inquestionável, talvez pudesse ajudar a resgatar a reputação de David. Se fosse uma heroína – ou mesmo um ás –, ele não poderia ser um traidor, certo? Esticou as pernas e coçou a cabeça sob o capacete de couro. Mais duas horas, pousariam e fariam uma refeição quente. Era o único consolo – estavam levando seu protegido para uma base de verdade com comida de verdade e tinham a promessa de uma refeição antes de voar de volta para Voronezh. Raisa ficou pensando se conseguiriam embrulhar alguma coisa para colocar nos bolsos e levar de volta. Inspecionando o céu até o horizonte, não viu nem mesmo um ganso voando. Os outros aviões – os Yaks em forma de bala e o grande Lisunov com seus dois motores nas asas e estrutura sólida – zumbiam ao redor dela, numa formação que era bastante majestosa. Ela sempre ficava impressionada com aquelas grandiosas feras de aço e graxa subindo pelo ar, num desafio impossível à gravidade. O mundo se espalhava abaixo dela, amplas planícies em bege e verde, limitadas por florestas, cortadas pelo leito sinuoso de um riacho. Podia acreditar que não existia nada lá embaixo – uma terra limpa e nova, e ela era rainha de tudo que conseguia ver, por centenas e centenas de quilômetros. Navegava acima daquilo sem esforço. Depois, localizou uma fazenda, fileiras de campos quadrados que deveriam estar verdes com os novos plantios, mas em vez disso tinham crateras pretas e restos de tanques destruídos. Caso se concentrasse no som do motor, um chacoalhar reconfortante que fluía pela pele da fuselagem ao redor dela, não pensaria tanto no restante daquilo. Caso inclinasse a cabeça para trás, poderia ver o céu azul passando acima e apertaria os olhos para o sol. O dia estava bonito, e ela sentiu uma ânsia de abrir a cúpula e beber o céu. O vento gelado a faria em pedaços àquela altitude, então resistiu. A cabine estava quente e segura como um ovo. Algo do lado de fora chamou sua atenção. À distância, do outro lado da planície sobre a qual voavam, no ponto em que o céu encontrava a terra. Pontos escuros se movendo sobre o azul. Eram antinaturais – voavam em linha reta demais, suavemente demais para que fossem pássaros. Pareciam distantes, significando que tinham de ser grandes – difícil dizer sem um ponto de referência. Mas vários deles voavam juntos na forma inconfundível de aviões em formação. Ela ligou o rádio. – Aqui é Stepanova. À esquerda, no horizonte, estão vendo? – Sim. São bombardeiros? – perguntou Inna. Eram, pensou Raisa. Tinham uma aparência pesada, avançando devagar em vez de disparando. A formação chegava mais perto, mas ainda não o suficiente para ser possível ver se tinham cruzes ou estrelas pintadas. – Deles ou nossos? – quis saber Katya. – Vou descobrir – disse Raisa, saindo da formação e acelerando. Ela iria dar uma olhada, e se visse aquela cruz preta dispararia. Uma voz masculina falou, o piloto do Li-2. – Aqui é Osipov . Volte para cá, Stepanova! – Mas... – Volte à formação! Os aviões estavam bem ali, só levaria um segundo para verificar... – Raisa, você não pode pegá-los sozinha! – falou Inna, quase suplicando. Ela certamente podia tentar... – Um esquadrão foi notificado e irá interceptar a esquadrilha desconhecida. Vamos seguir em frente – informou Osipov. Eles não podiam impedi-la... Mas podiam acusá-la de desobedecer a ordens assim que pousasse, e isso não ajudaria ninguém. Então, ela deu a volta e retornou à formação. Litviak iria atirar em alguém naquele dia. Raisa viu seu reflexo desbotado no vidro da cabine. Querido Davidya: Prometi lhe escrever todos os dias, então continuo a fazer isso. Como está desta vez? Espero que esteja bem. Que não esteja doente, nem esteja com fome. Começamos a conversar sobre comer os ratos que infestam os abrigos aqui, mas não chegamos ao ponto de tentar de verdade. Principalmente porque acho que daria trabalho demais para muito pouca recompensa. Os animais são tão magros quanto o resto de nós. Mas não estou reclamando. Recebemos algumas caixas de comida enlatada – frutas, carne, leite – de um lançamento de suprimentos americano e estamos saboreando a sorte. É como uma provinha daquilo pelo que estamos lutando, e pelo que podemos esperar quando esta confusão terminar . Foi Inna quem disse isso. Um belo pensamento, não? Ela sozinha mantém todo o batalhão animado. Tenho de avisar que escrevi uma carta para ser enviada a você caso eu morra. É bastante grotesca, e agora você ficará com medo de que cada carta que receber de mim será aquela. Você fez isso, me escreveu uma carta que só lerei caso você morra? Não recebi uma, o que me dá esperança. Sou muito grata por Nina não ser velha o bastante para estar na frente de batalha conosco, ou estaria escrevendo o dobro de cartas grotescas. Recebi uma carta dela falando sobre o que fará quando for velha o bastante para vir para a frente, e ela quer voar como eu, e se não puder ser piloto será mecânica – minha mecânica, na verdade. Estava muito animada. Escrevi para ela no mesmo dia dizendo que a guerra terá terminado antes que ela seja velha o bastante. Espero estar certa. Amor e beijos, Raisa.
Outra semana se passou sem notícias de David. Ele devia estar morto. Oficialmente, havia desertado, e Raisa supunha que tinha de considerar que de fato fizera isso, só que não fazia sentido. Para onde iria? Ou talvez apenas estivesse perdido e ainda não conseguira retornar ao seu regimento. Queria acreditar nisso. Gridnev a chamou ao abrigo de operações, e ela se apresentou diante da escrivaninha. Um homem, um estranho vestindo um engomado uniforme do exército, se levantou com ele. O comandante do ar estava soturno e com um rosto pétreo quando anunciou: – Stepanova, este é o capitão Sofin. Depois, Gridnev deixou a sala. Raisa sabia o que iria acontecer. Sofin colocou uma pasta na escrivaninha e se sentou atrás dela. Não a convidou a sentar. Não estava nervosa por falar com ele. Mas tinha de conter uma lenta e tensa raiva. – Seu irmão é David Ivanovich Stepanov? – Sim. – Tem consciência de que ele foi declarado desaparecido em combate? Ela não deveria saber, oficialmente, mas não era bom esconder isso. – Sim, tenho. – Tem alguma informação quanto ao seu paradeiro? “Você não deveria estar travando uma guerra?”, pensou ela. – Suponho que ele foi morto. Afinal, muitos são. – Recebeu alguma comunicação dele? E se ele encontrasse todas aquelas cartas que ela estivera escrevendo para ele e as considerasse reais? – Nenhuma. – Preciso lhe dizer que caso receba qualquer notícia dele é seu dever informar o comando. – Sim, senhor. – Estaremos observando atentamente, Raisa Stepanova.
Ela queria saltar sobre a escrivaninha no abrigo de operações e estrangular aquele homenzinho de bigode fino. Afora isso, queria chorar, mas não o fez. Seu irmão estava morto e eles o tinham condenado sem qualquer prova ou julgamento. Mais uma vez, pelo que ela estava lutando? Nina e seus pais, e mesmo Davidya. Certamente não por aquele homem. Ele a dispensou sem nem erguer os olhos da pasta que estudava, e ela saiu do abrigo. Gridnev estava de pé ao lado da porta, espreitando como um colegial, embora um colegial sério que se preocupava demais. Sem dúvida escutara tudo. Ela murchou, corando, rosto virado para o chão, como um cão chutado. – Você tem um lugar aqui no 586º, Stepanova. Sempre terá. Ela deu um sorriso de agradecimento, mas não confiou em sua voz para dizer algo. Como, por exemplo, o fato de perceber que Gridnev não teria muito o que fazer quanto a isso no fim das contas. Não, ela teria de merecer sua inocência. Caso conseguisse abates suficientes, caso se tornasse um ás, não poderiam tocar nela, não mais do que poderiam macular a reputação de Liliia Litviak . Caso se tornasse heróica o suficiente, poderia até mesmo redimir David.
* * *
O inverno terminou, mas isso só significou que os insetos surgiram com força, mosquitos e pernilongos que deixavam todos infelizes e irritadiços. Corriam boatos de que as forças aliadas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos estavam planejando uma enorme invasão, que os alemães tinham uma arma secreta que iriam usar para devastar Moscou e Londres. Vivendo em um campo na linha de frente as notícias eram escassas. Eles recebiam ordens, não notícias, e só podiam seguir essas ordens. Isso a deixava cansada. – Stepanova, você está bem? Ela estacionara seu avião depois de um voo de patrulha que seguia uma rota ao longo da frente, procurando ataques iminentes e deslocamentos de trás – totalmente rotina, nenhum alemão avistado. O motor parara com um ronco e a hélice se imobilizara muito antes, mas ela permanecera na cabine, apenas sentada. A ideia de se levantar, com o equipamento pesado, paraquedas, diário, capacete e tudo mais, sair da cabine e ir para a asa a deixava exausta. Ela passara meses fazendo aquilo e, naquele momento, não tinha certeza se sobrava algo. Não conseguia ler nenhum número nos marcadores, por mais que piscasse para o painel de instrumentos. – Stepanova! – gritou novamente Martya, sua mecânica, e Raisa se sacudiu e despertou. – Sim, estou bem, estou saindo. Deslizou a cúpula da cabine, reuniu suas coisas e passou pela lateral. Martya esperava na asa vestindo camisa e macacão, mangas arregaçadas, lenço na cabeça. Não podia ter mais de 20 anos, mas suas mãos eram calejadas de anos trabalhando em motores. – Você parece péssima – comentou Martya. – Nada que uma dose de vodca e um mês numa cama de penas não consertem – brincou Raisa, e a mecânica riu. – Como está o combustível? – Baixo. Acha que está bebendo mais do que deveria? – Não me surpreenderia. Está trabalhando duro. Vou dar uma olhada. – Você é a melhor, Martya. A mecânica a ajudou a saltar da asa, e Raisa deu um abraço nela. – Tem certeza de que está bem? – perguntou Martya. Raisa não respondeu. – Raisa! – chamou Inna, vindo de seu avião, arrastando o paraquedas com um braço, o capacete enfiado embaixo do outro. – Você está bem? Ela queria que as pessoas parassem de lhe perguntar isso. – Cansada, acho – respondeu Martya por ela. – Quer saber do que precisamos? Uma festa, uma dança ou algo assim. Há muitos garotos bonitos por aqui com quem flertar. Ela estava certa: a base estava cheia de pilotos do sexo masculino, mecânicos e soldados, e todos eram animados e bonitos. A sorte realmente estava a favor das mulheres. Raisa não pensara nisso antes. Inna suspirou. – Difícil pensar em flerte quando estão bombardeando e atirando em você. Martya se apoiou na asa e pareceu sonhadora. – Depois da guerra poderemos nos arrumar. Lavar os cabelos com sabonete de verdade e ir dançar. – Depois da guerra. Sim – concordou Inna. – Depois de vencermos a guerra – corrigiu Raisa. – Não haverá muita dança se os fascistas vencerem. Elas ficaram em silêncio, e Raisa lamentou ter dito qualquer coisa. Era a suposição não dita quando as pessoas falavam sobre “depois da guerra”: claro que eles venceriam. Se perdessem não haveria nenhum “depois”. Não que Raisa esperasse chegar tão longe. Davidya: Decidi que desistiria de ser um ás de caça se isso significasse que poderíamos sair vivos da guerra. Não conte a ninguém que disse isso; eu perderia minha reputação de ser feroz e de ter uma inveja hedionda de Liliia Litviak. Se há um Deus talvez ele me escute, e você sairá andando da floresta, vivo e bem. Não morto, e não um traidor . Iremos para casa, mamãe, papai e Nina estarão bem e poderemos esquecer que tudo isso aconteceu. Agora esse é o meu sonho. Ainda tenho aquela carta, a grotesca que escrevi para você caso morra. Eu deveria queimar , já que Inna agora não tem ninguém para quem mandar . Sua irmã, Raisa.
Um alarme soou ao amanhecer.
Por reflexo ela saiu do catre, vestiu calça e camisa, casaco e botas, pegando luvas e capacete ao sair do abrigo. Inna estava ao lado dela, correndo na direção da pista de decolagem. Aviões já roncavam acima – vigias voltando da patrulha. Mecânicos e armeiros estavam junto aos aviões – todos eles, reabastecendo, colocando esteiras de munição em canhões e metralhadoras. Aquilo era grande. Não apenas uma incursão, e sim uma batalha. O comandante Gridnev falou com eles ali mesmo no campo. A missão: bombardeiros pesados alemães tinham cruzado a frente de guerra. Caças estavam sendo enviados para interceptar. Ele mesmo iria voar, liderando o primeiro esquadrão. O primeiro esquadrão iria decolar em minutos e atacaria quaisquer caças enviados junto com o ataque. O segundo esquadrão – o esquadrão das mulheres – decolaria em quinze minutos e iria deter os bombardeiros. O ar se encheu de caças Yak , o ronco de seus motores como o zumbido de abelhas amplificado. Sem tempo de pensar, apenas de fazer, assim como centenas de vezes antes. Martya ajudou Raisa a entrar na cabine, bateu a cúpula duas vezes antes de fechá-la sobre ela, depois saltou da asa para arrancar as travas de sob os pneus. Uma dúzia de Yaks fez fila, taxiando da linha de voo para esperar sua vez na pista. Um depois do outro, depois do outro. Finalmente chegou a vez de Raisa, e ela decolou. Era um alívio estar no ar, onde podia fazer alguma coisa. No alto, quando alguém atacava, ela podia desviar. Não era como estar no solo quando as bombas caíam. Ela preferia ter um manche na mão, um gatilho sob o dedo. Parecia certo. Olhando para trás pela cúpula Raisa encontrou Inna ao seu lado, bem onde deveria estar. Sua amiga fez um largo cumprimento e Raisa acenou de volta. Assim que o esquadrão decolou, elas se puseram numa formação diagonal, seguindo o esquadrão de Gridnev à frente. Todas tinham voado com os homens de Gridnev; todos tiveram meses para se acostumar uns com os outros. Homens ou mulheres, não fazia diferença, e a maioria dos homens se dava conta disso mais cedo ou mais tarde. O que era uma espécie de revelação caso parasse para pensar nisso. Mas ninguém tinha tempo de parar e pensar nisso. Tudo que se precisava saber era que Aleksei Borisov gostava de mergulhar para a esquerda e subiria se estivesse em apuros; Sofia Mironova era uma piloto cuidadosa e tendia a ficar para trás; Valentina Gushina era rápida, muito boa em combate; Fedor Baurin tinha a melhor visão. Ele via o alvo antes de qualquer um. Os Yaks voavam em formação aberta, prontos para dissolver e entrar em combate assim que o alvo fosse visto. Raisa examinou o céu em todas as direções, olhando para cima e por sobre os ombros. O comandante tinha as coordenadas; estimara vinte minutos até o contato. Eles deveriam vê-los a qualquer momento... – Lá! – chamou Baurin pelo rádio. – Uma hora! – Firme. Mantenham formação – respondeu Gridnev . Ela viu o inimigo, a luz do sol refletindo nas cúpulas, aviões suspensos no ar. Difícil avaliar escala e distância; seu próprio grupo estava viajando rápido o bastante para que os aviões inimigos parecessem parados. Mas estavam se aproximando, rápida e inexoravelmente. Enquanto os pesados bombardeiros avançavam, nivelados e em linha reta, um punhado de aviões menores saiu do grupo principal – um esquadrão de caças como escolta. Bem, aquilo ia ser interessante. À ordem do comandante, eles se espalharam e se prepararam para combate. Raisa acelerou e avançou, planejando deixar os caças para trás: a missão delas era impedir que os bombardeiros chegassem ao seu alvo. Seu Yak desceu, tombou à esquerda, roncou avançando. Uma esquadrilha de Messerschimitts disparou acima. Sons de tiros. Depois desapareceu. Inna a seguira, e os bombardeiros estavam à frente, esperando. Tinham pouco tempo para perturbar o máximo possível antes que os Messers dessem a volta, não importando o quanto os outros conseguissem mantê-los ocupados. Assim que chegou ao alcance ela abriu fogo. O ratatá do canhão sacudiu a fuselagem. Perto, outro canhão disparou. Raisa rastreou a fumaça dos projéteis vindo por trás dela na direção dos Junkers: Inna também disparara. Os bombardeiros ficaram na retaguarda. E os caças alcançaram Inna e ela. Depois, foi o caos. Ela procurou estrelas e cruzes marcadas nas fuselagens, diferenciando amigo de inimigo. Eles se caçaram em três dimensões, até ser impossível localizar todos, quando ela começou a se concentrar em evitar uma colisão. Os Messers tinham forma de torpedo, esguios e ágeis. Formidáveis. Os dois grupos de pilotos tiveram dois anos de guerra para ganhar experiência. A luta só terminaria quando um dos lados ficasse sem munição. Elas tinham de derrubar aqueles bombardeiros, no mínimo. Os outros tiveram a mesma ideia, e o comandante os mandou para seu alvo primário, até que os bombardeiros se espalhassem, só para sair do caminho da batalha aérea. Naquele momento, os Messers tinham de se preocupar em não atingir seus protegidos acidentalmente. Isso os tornava mais cautelosos; poderia dar uma vantagem aos Yaks. O ronco de motores e as hélices cortando o ar enchiam o céu ao redor dela. Ela nunca vira tantos aviões no céu ao mesmo tempo, nem nos seus primeiros dias de treinamento no clube. Ela deu uma volta por fora e encontrou um alvo. O piloto do caça tinha no alvo um Yak – o de Katya, pensou – e estava tão concentrado em atingi-la que voava nivelado e em linha reta. O primeiro e pior erro. Ela mirou nele e travou por um segundo, o suficiente para disparar antes de mergulhar e sair do caminho antes que alguém mirasse nela. Seus projéteis cortaram a cabine, atravessando o piloto. A cúpula estilhaçou, e houve sangue. Pensou ter visto o rosto dele atrás, de óculos e capacete de voo, só por um momento – uma expressão de choque, depois nada. Descontrolado, o Me-109 apontou para baixo e caiu em uma espiral descendente. A visão, fumaça preta subindo, o avião em queda, era fascinante. Mas sua própria trajetória a afastou da cena num instante, mostrando céu azul à frente. – Quatro! – gritou Raisa. Quatro abates. E certamente com todos aqueles alvos ao redor ela poderia conseguir seu quinto. Ambos por David. Outros aviões estavam caindo do céu. Um dos bombardeiros foi atingido e ainda voava, com um motor soltando colunas de fumaça. Outro caça engasgou, ficou para trás depois tombou, liberando fogo e estilhaços – Aleksei, era Aleksei. Será que conseguiria recuperar o controle de seu avião danificado? Caso contrário, será que teria tempo de saltar? Não viu vida na cabine; era só fuligem. Em vez de lamentar, trincou os dentes e encontrou outro alvo. Tantos deles que mal sabia qual escolher primeiro. No rádio, Gridnev ordenava retirada. Eles tinham causado danos, era hora de sair enquanto podiam. Mas só tinham lutado alguns minutos. O motor do seu Yak parecia cansado, as hélices que giravam à sua frente pareciam engasgar. Um Messerschmitt veio do sol acima como um dragão. Uma chuva de balas acertou a fuselagem do seu Yak, soando como granizo. Uma dor penetrou sua coxa, mas isso era menos preocupante que a batida e o guincho áspero do motor. E fumaça preta de repente saindo do nariz em uma nuvem grossa. O motor tossiu: a hélice parou de girar. De repente seu gracioso Yak aerodinâmico virou uma pedra morta esperando para cair. Ela ergueu o nariz na força bruta, apertou o acelerador repetidamente, mas o motor estava morto. Bombeou os pedais, mas o leme estava travado. O nariz tombou, acabando com qualquer chance que tivesse de deslizar para terra. – Raisa, salte! Salte! – gritou Inna pelo rádio. Abandonar o posto, não, nunca. Melhor morrer numa bola de fogo que desaparecer. O nariz tombou ainda mais, a asa esquerda se ergueu – o começo de um mergulho em parafuso. Agora ou nunca. Maldição. Sua perna direita inteira latejava de dor, e havia sangue na manga da sua camisa, sangue espalhado no lado de dentro da cúpula, e ela não sabia de onde tinha vindo. Talvez do piloto cujo rosto vira, aquele que olhava para ela com olhos mortos atrás dos óculos de proteção. Instinto e treinamento foram mais fortes. Esticando as mãos, abriu a cúpula. O vento a atingiu como um punho. Soltou o cinto, levantou do assento; sua perna não queria se mover. Ela não saltou exatamente, deixou o Yak se afastar dela, e de repente estava flutuando. Não – estava caindo. Puxou a corda e o paraquedas se abriu acima dela, uma flor cor de creme esticando as pétalas. Ele pegou o ar e a parou com um puxão. Ficou pendurada nos arreios como um peso morto. Peso morto, rá. Seu avião pegava fogo, um cometa flamejante rodopiando para a terra, traçando uma espiral de fumaça preta. Seu pobre avião. Ela queria chorar e não tinha chorado nunca durante toda a guerra, a despeito de tudo. A batalha continuava. Ela perdera de vista o avião de Inna, mas ouviu tiros em meio às explosões e roncos de motor. Inna protegera sua escapada, impedindo que fosse baleada em pleno ar. Não que isso tivesse sido uma tragédia – pelo menos teria morrido em combate. Naquele momento, não sabia de que lado da linha estava o campo nu abaixo dela. Quem a encontraria, russos ou nazistas? “Nenhum prisioneiro de guerra, apenas traidores...” A pior parte era não ser capaz de fazer nada quanto a isso. Sangue escorria de sua perna e se espalhava ao vento. Havia sido baleada. A tontura que tomou conta dela poderia ser o choque da compreensão ou perda de sangue. Poderia nem mesmo chegar ao chão. Será que seu corpo seria um dia encontrado? O céu de repente ficara muito silencioso, e os caças e bombardeiros enxamearam como corvos à distância. Apertou os olhos, tentando ver melhor. Então, Raisa apagou.
Muito depois, abrindo os olhos, Raisa viu um teto baixo com fileiras de vigas de madeira. Estava num catre, parte de uma fila de catres, no que deveria ser um hospital de campanha improvisado com pessoas indo de um lado para o outro, cruzando fileiras e alamedas, em negócios obviamente importantes. Falavam russo, e o alívio tomou conta dela. Tinha sido encontrada. Estava em casa. Não conseguiu se mover e decidiu que não queria muito. Ser deixada despreocupadamente no catre com cobertores, a alguma distância da dor que estava certa de que deveria estar sentindo, parecia a melhor forma de existir, pelo menos nos minutos seguintes. – Raisa! Você acordou! Uma cadeira foi arrastada para perto sobre um piso de concreto e um rosto familiar apareceu. David. Barbeado, os cabelos escuros cortados, uniforme da infantaria passado e abotoado, como se estivesse indo para uma parada, não visitando a irmã no hospital. Exatamente como estava na fotografia formal que mandara para casa logo depois de se alistar. Aquilo devia ser um sonho. Talvez aquilo não fosse um hospital. Talvez fosse o céu. Não estava certa de que havia sido suficientemente boa. – Raisa, diga alguma coisa, por favor – pediu ele, e com o rosto tão contorcido parecia preocupado demais para estar no céu. – Davidya! – falou, precisou respirar duas vezes para completar o nome do irmão, e sua voz estava surpreendentemente rascante. Lambeu lábios secos. – Você está vivo! O que aconteceu? Ele deu de ombros, tímido. – Meu esquadrão se perdeu. Enfrentamos uma unidade Panzer no meio da floresta, e uma nevasca de primavera repentina nos prendeu. Metade de nós teve queimaduras por causa do gelo e teve de arrastar a outra metade para fora. Demorou duas semanas, mas conseguimos. Aquele tempo todo... Ele só estava perdido. Desejou que Sofin estivesse lá para poder socá-lo na cara. – Eu riria de todo o problema que você causou, mas meu peito dói – contou ela. O sorriso dele murchou, e ela imaginou que deveria ter tido uma entrevista com alguém muito parecido com Sofin depois que ele e seu esquadrão mancaram de volta para casa. Não ia lhe contar sobre sua entrevista, e queimaria aquelas cartas que escrevera para ele assim que voltasse ao campo de pouso. – É muito bom ver você, Raisa – disse, segurando sua mão, a que não estava com ataduras, e ela apertou o mais forte que pôde, o que não era muito, mas o suficiente. – Seu comandante Gridnev me avisou que você tinha sido ferida e eu pude tirar um dia para vir vê-la. Ela engoliu e as palavras saíram lentamente. – Eu fui atingida. Tive de pular. Não sei o que aconteceu depois. – Sua parceira conseguiu passar sua posição por rádio. Forças terrestres avançaram e acharam você. Dizem que estava péssima. – Mas consegui meu quarto abate, eles lhe contaram isso? Mais um e serei ás. Talvez não a primeira piloto de caça ás, ou mesmo a segunda. Mas seria. David não sorriu. Ela o sentiu se distanciando, com a pressão em sua mão diminuindo. – O quê? Ele não queria dizer. O rosto dele se fechara, os olhos reluzindo – como se ele estivesse prestes a começar a chorar. E ali estava ela, a menina, e não chorara uma só vez. Bem, uma vez, por seu avião. – Raisa, você está sendo dispensada por motivos médicos – contou. – O quê? Não. Eu estou bem. Vou ficar bem... – Suas duas pernas estão quebradas, metade das costelas trincadas, você deslocou o ombro, tem uma concussão e foi baleada duas vezes. Você não pode voltar. Não por um longo tempo, pelo menos. Ela não achara que tinha sido tão ferida. Certamente saberia se fosse tão ruim assim. Mas seu corpo ainda parecia muito distante. Ela não sabia nada. – Eu vou melhorar... – Por favor, Raisa. Por enquanto, apenas descanse. Mais um abate, só precisava de mais um... – Davidya, se não puder voar, o que vou fazer? – Raisa! – chamou uma voz clara vindo do fim da fila de catres. – Inna – respondeu Raisa, o mais alto que sua voz permitiu. Sua parceira se aproximou, e quando não conseguiu encontrar uma cadeira, se ajoelhou junto ao catre. – Raisa. Ah, Raisa, veja você, enrolada como uma múmia. Ela mexeu nas cobertas, alisou um cacho de cabelos que saía da atadura ao redor da cabeça de Raisa, depois mexeu um pouco mais nas cobertas. A boa e doce Inna. – Inna, este é meu irmão David. Os olhos dela arregalaram em choque, mas Raisa não teve a oportunidade de explicar que sim, “desaparecido” às vezes realmente significava desaparecido, porque David se levantou apressado e ofereceu a cadeira a Inna, mas ela balançou a cabeça, o que deixou os dois de pé em lados opostos do catre, olhando um para o outro por cima de Raisa. Depois de muito tempo, Inna estendeu a mão. David limpou a dele na perna da calça antes de apertá-la. Que coisa mais típica de David de se fazer. – Raisa me contou muito sobre você – disse Inna. – E ela falou sobre você em suas cartas. Inna corou. Bom. Talvez algo de bom pudesse sair de tudo aquilo.
Ela deveria estar feliz. Afinal, conseguira seu desejo.
Raisa estava de pé na plataforma, esperando o trem que iria tirá-la de Voronezh. Seu braço continuava em uma tipoia, e ela se apoiava pesadamente numa bengala. Não conseguia erguer a própria bagagem. Raisa discutira com as forças armadas sobre a baixa. Eles deveriam saber que não iria desistir – não tinham entendido pelo que tivera de passar para entrar na cabine, para começar. Este era o segredo: ela continuara escrevendo cartas, continuara aparecendo e não conseguiram dizer não. Em um delírio, ficou pensando se fora isso o que trouxera David para casa: nunca deixara de escrever cartas para ele, então tivera de ir para casa. Quando finalmente lhe ofereceram uma solução – lecionar navegação num campo de treinamento perto de Moscou –, ela aceitou. Significava que mesmo com bengala e tipoia, mesmo que não pudesse andar direito ou carregar o próprio equipamento, ainda vestia seu uniforme, com todas as suas medalhas e fitas. Ainda mantinha o queixo erguido. Mas no final até mesmo ela teve de admitir que não voltaria a voar – pelo menos não em combate. – Tem certeza de que ficará bem? Inna fora com ela até a estação para se despedir. David retornara ao seu regimento, mas ela ouvira os dois fazendo promessas de se corresponder. – Eu estou bem. Os olhos de Inna brilharam como se fosse chorar. – Você se tornou tão quieta. Estou muito acostumada a ver você correndo como uma galinha raivosa. Raisa sorriu com a imagem. – Vai me escrever? – Claro. O tempo todo. Vou manter você atualizada com todas as fofocas. – Sim, quero saber quantos aviões Liliia Litviak derruba. – Ela irá ganhar a guerra sozinha. Não, em alguns meses Raisa iria ler no jornal que Liliia fora declarada desaparecida em combate, derrubada sobre território inimigo, avião e corpo não recuperados. A primeira piloto ás da história e seria declarada desertora em vez de heroína. Mas elas não sabiam disso naquele momento. O apito do trem soou, ainda a alguma distância, mas podiam ouvir sua aproximação, estalando nos trilhos. – Tem certeza de que ficará bem? – perguntou Inna, com algo como súplica nos olhos. Raisa estava olhando para o nada, algo que passara a fazer muito. O vento brincava com seus cabelos escuros, e ela olhou através do campo e das ruínas da cidade até onde ficava o campo de pouso. Achou poder ouvir aviões acima. – Eu imaginei morrer num acidente terrível, ou ser derrubada em batalha. Iria sair desta guerra ou morrer de algum modo gloriosamente heroico. Nunca imaginei ficar... aleijada. Que a guerra iria continuar sem mim – confessou Raisa. Inna tocou seu ombro. – Estamos todos contentes por você não ter morrido. Especialmente David. – Sim, porque ele teria de descobrir como contar aos meus pais.
Ela suspirou. – Você é tão mórbida. O trem chegou e um carregador apareceu para ajudá-la com a bagagem. – Tome cuidado, Inna. Encontre uma boa parceira para treinar. – Vou sentir sua falta, querida. Elas se abraçaram com força, mas cuidadosamente, e Inna ficou lá para garantir que Raisa mancasse para dentro do trem e se sentasse sem problemas. Acenou para a amiga da plataforma até o trem sumir de vista. Sentada no trem, olhando pela janela, Raisa viu os aviões que estava procurando: uma dupla de Yaks deslizando acima, a caminho do campo de pouso. Mas não conseguiu ouvir o ronco dos motores acima do som do trem. Ainda bem, talvez.
.
.
JOE R. LANSDALE
O prolífico escritor texano Joe R. Lansdale recebeu os prêmios Edgar Award, American Horror, o American Mystery, International Crime Writer’ s, e seis Bram Stoker. Embora talvez seja mais conhecido por obras de terror e thrillers como The Nightrunners, Bubba Ho-Tep, The Bottoms, The God of the Razor e The Drive-In, também escreve a popular série de mistério com os personagens Hap Collins e Leonard Pine – Savage Season, Mucho Mojo, The Two-Bear Mambo, Bad Chili, Rumble Tumble, Captains Outrageous –, bem como romances de faroeste como Texas Night Riders e Blood Dance e romances de gênero híbrido e inclassificável como Zeppelins West, The Magic Wagon e Flaming London. Entre seus outros romances estão Dead in the West, The Big Blow, Sunset and Sawdust, Act of Love, Freezer Burn, Waltz of Shadows, The Drive-In 2: Not Just One of Them Sequels e Leather Maiden. Também escreveu romances para séries como Batman e Tarzan. Seus muitos contos apareceram em By Bizarre Hands; Tight Little Stitches in a Dead Man’s Back; The Shadows, Kith and Kin; The Long Ones; Stories by Mama Lansdale’s Youngest Boy; Bestsellers Guaranteed; On the Far Side of the Cadillac Desert with Dead Folks; Electric Gumbo; Writer of the Purple Rage; A Fist Full of Stories; Steppin’ Out, Summer ,’68; Bumper Crop; The Good, the Bad, and the Indifferent; Selected Stories by Joe R. Lansdale; For a Few Stories More; Mad Dog Summer and Other Stories; The King and Other Stories; Deadman’s Road; a antologia Flaming Zeppelins: The Adventures of Ned the Seal; e High Cotton: Selected Stories of Joe R. Lansdale. Trabalhou como editor nas coletâneas The Best of the West, Retro Pulp Tales, Son of Retro Pulp Tales, Razored Saddles (com Pat LoBrutto), Dark at Heart: All New Tales of Dark Suspense from Today’s Masters (com sua esposa Karen Lansdale), The Horror Hall of Fame: The Stoker Winners e a antologia em homenagem a Robert E. Howard Cross Plains Universe (com Scott A. Cupp). Uma antologia em homenagem à obra de Lansdale é Lords of the Razor. Seus livros mais recentes são dois romances de Hap e Leonard, Devil’s Road e Hyenas; os romances Damaged by Choice e Edge of Dark Water; uma nova antologia, Shadows West (com John L. Lansdale); e, como editor, duas novas coletâneas, Crucified Dreams e The Urban Fantasy Anthology (com Peter S. Beagle). Ele mora com a família em Nacogdoches, Texas. Aqui ele nos apresenta à melhor garota má de todos os tempos, uma mulher dotada de feitiço, bruxaria e com um apito silencioso de cachorro sobre todo homem que encontra; uma mulher que é como uma maçã vermelha brilhante com um verme no centro, uma que poderia fazer um padre ir para casa e cortar a própria garganta se a visse caminhando pela rua. Em síntese, uma personagem que apenas Lansdale poderia criar.
.
.
LUTANDO COM JESUS
Primeiro eles pegaram o saco de lanche de Marvin, depois seu dinheiro, chutando seu traseiro em seguida. Ele sentiu a surra, que se fosse colocada numa escala de um a dez, valeria uns catorze. Contudo, Marvin calculou que parte da surra fora inconsistente, já que um dos agressores tinha parado para acender um cigarro, e depois dois deles pareceram cansados e sem fôlego. Caído ali, sentindo o gosto de sangue, ele gostava de pensar que, considerando a pausa para fumar e a evidente exaustão de dois dos agressores, era possível tirar pontos do desempenho geral e a avaliação deles seria de apenas nove ou dez em vez de catorze inteiros. Isso, contudo, não ajudava em nada suas costelas e não eliminava os pontos que estavam diante de seus olhos pouco antes de ter desmaiado de dor. Quando voltou a si, ele estava sendo despertado a tapas por um dos valentões, que queria saber se tinha dentes de ouro. Ele disse que não e o valentão insistiu em ver, então Marvin abriu a boca, e o bandido deu uma olhada. Desapontado, o valentão ameaçou mijar em sua boca ou fodê-lo, mas sua gangue e ele estavam ou cansados demais da surra para fodê-lo ou não estavam prontos para mijar, pois começaram a ir embora, dividindo seu dinheiro por quatro enquanto se afastavam. Eles ganharam cada um cerca de três dólares e vinte centavos, e tiraram de sua mochila um belo sanduíche de presunto e uma pequena embalagem de gelatina. Contudo, só havia uma colher de plástico. Marvin estava começando a se sentir um só com o concreto quando ouviu uma voz. – Vocês acham que são alguma coisa, não é, seus merdinhas? Piscando, Marvin viu que quem falava era um homem velho, ligeiramente curvado, pernas arqueadas, com cabelos brancos e um rosto que parecia ter sido desmontado e remontado por um bêbado num quarto escuro com cola barata. Sua orelha – Marvin podia ver a direita – tinha pelos suficientes para tricotar um suéter para um cachorrinho. Os únicos pelos pretos visíveis no homem. Os cabelos em sua cabeça eram da cor da barriga de um peixe. Ele segurava as calças largas com uma das mãos. Sua pele era escura como uma castanha e a boca estava um pouco cheia demais com as dentaduras. Um dos bolsos da calça estava inchado com algo. Marvin achou que poderiam ser as bolas dele: uma hérnia. A gangue parou de repente e se virou. Eram sujeitos de aparência desagradável com ombros largos e músculos. Um deles tinha uma barriga grande, mas era duro, e Marvin sabia que todos possuíam punhos duros e sapatos ainda mais duros. O velho estava prestes a ser morto. Aquele que tinha perguntado a Marvin se tinha dentes de ouro, o barriga dura, olhou para o velho. – Está falando a gente, velho maluco? – perguntou, pousando a mochila recém-roubada no chão. – Vocês são os únicos merdas que eu vejo – retrucou o velho. – Acha que é um cara mau, não é? Qualquer um pode dar uma surra num maricas como este garoto. Minha avó aleijada poderia, e ela está morta há uns vinte anos. O garoto deve ter uns 16 anos; os cretinos têm o que, 20? Vocês são um bando de meninas sem pelos nas rachas. Marvin tentou engatinhar para trás até sair de vista, não querendo reavivar o interesse deles, e pensando que poderia fugir enquanto estivessem matando o velho. Mas estava fraco demais para engatinhar. Barriga Dura começou a dar passos largos na direção do velho, sorrindo, satisfeito. – Você vai lutar comigo sozinho, Merdinha? – quis saber o velho, enquanto Barriga Dura estava a menos de dois metros dele. – Não precisa da sua gangue talvez para me segurar? – Eu vou arrancar qualquer dente de verdade que você tenha, seu velhote – disse Barriga Dura. – Eu não tenho nenhum de verdade, então fique à vontade. O garoto avançou e chutou o velho, que por sua vez jogou a perna dele de lado com a mão esquerda, sem deixar de segurar as calças com a direita, e o atingiu com um curto de esquerda na boca que o derrubou e arrancou sangue dos lábios. Quando Barriga Dura tentou levantar, o velho lhe acertou um chute direto na traqueia. Barriga Dura caiu, engasgando, com a mão na garganta. – E quanto a vocês, meninas? Prontas, putinhas? As putinhas balançaram a cabeça. – Bom – retrucou o velho, e tirou uma corrente do bolso. Era o volume no bolso, não uma bola com hérnia. Continuava a segurar as calças com a outra mão. – Agora estamos de igual para igual aqui. Eu vou enrolar este escroto ao redor das suas cabeças como um cabo de âncora. Venham aqui, peguem o sr. Cuzão e o levem para longe de mim, e rápido. Os três garotos colocaram de pé o sr. Cuzão, também conhecido como Barriga Dura, e quando fizeram isso o velho se aproximou do rosto dele. – Não volte aqui. Não quero ver você de novo – ameaçou o velho. – Você vai se arrepender, velhote – falou Barriga Dura, com sangue gargarejando pelos lábios e descendo pelo queixo. O velho largou a corrente no chão e acertou Barriga Dura com um curto de esquerda, quebrando-lhe o nariz e espalhando sangue sobre seu rosto. – Que porra você tem nos ouvidos? – perguntou o velho. – Lama? Hein? Você tem lama? Está me ouvindo falar com você? Adiós, babaca. Os quatro garotos, e Barriga Dura, que cambaleava, desceram a rua e sumiram. O velho olhou para Marvin, que ainda estava caído no chão. – Eu recebi surras piores que esta da minha velha mãe, e ela não tinha um braço. Levante, porra. Marvin conseguiu ficar de pé, achando que esse era um feito comparável a construir uma das Grandes Pirâmides – sozinho. – O que você veio fazer aqui? – quis saber o velho. – Ninguém circula por aqui a não ser merdas. Você parece ser um garoto que veio de algum lugar melhor. Marvin balançou a cabeça. – Não. Eu sou daqui. – Desde quando? – Desde semana passada. – É? Você se mudou para cá de propósito ou perdeu seu mapa? – De propósito. – Bem, garoto, talvez seja melhor pensar em se mudar. Não havia nada que Marvin quisesse mais do que se mudar. Mas sua mãe disse que não havia chance. Eles não tinham dinheiro. Não desde que seu pai morrera. Aquilo os prejudicou, e muito severamente, aquela coisa de morte. O pai de Marvin estava indo bem na fábrica, mas quando ele morreu, suas vidas passaram a degringolar mais que um carrinho vermelho carregado de tijolos. Ele e a mãe tinham de estar onde estavam, e não havia mais nada que se pudesse dizer sobre isso. Um rebaixamento para eles seria uma caixa de papelão com vista. Uma melhoria seriam palmilhas nos sapatos. – Não posso me mudar. Mamãe não tem dinheiro para isso. Ela é lavadeira. – É, bem, então é melhor aprender a se cuidar sozinho – constatou o velho. – Caso contrário, pode acordar com as calças arriadas e o traseiro grande como uma travessa de jantar. – Eles fariam isso de verdade? – Eu não descartaria a possibilidade. É melhor você aprender a lutar. – Pode me ensinar? – Ensinar o quê? – A lutar. – Não posso. Preciso segurar minhas calças. Arrume um porrete. – Mas você poderia me ensinar. – Eu não quero, garoto. Tenho um trabalho em tempo integral para apenas continuar respirando. Tenho quase 80 anos, porra. Eu deveria estar morto há cinco anos. Escute. Fique longe daqui, e se não puder... Bem, boa sorte, garoto. O homem foi embora arrastando os pés e segurando as calças com uma das mãos. Marvin o observou por um momento, depois fugiu. Seu plano era sobreviver à semana, e depois a escola fecharia para o verão, e então ele ficaria no apartamento sem sair até que as aulas recomeçassem no outono. A essa altura, talvez ele pudesse conceber um novo plano. Ele esperava que nesse ínterim os garotos perdessem o interesse em socá-lo, talvez fossem mortos de alguma maneira medonha ou se mudassem. Começassem uma carreira, embora ele tivesse uma boa ideia de que já tinham começado uma – bandidos profissionais. Ele contou à mãe que tinha caído. Ela acreditou. Estava mais preocupada em colocar comida na mesa para pensar em outra coisa, e ele não queria que ela soubesse. Não queria que soubesse que não podia cuidar de si mesmo, e que era um saco de pancadas ambulante. O negócio era que ela não era muito atenta aos seus problemas. Tinha o emprego e um namorado, um pintor de paredes. O pintor era um cara alto e magro que aparecia, assistia à TV e bebia cerveja, depois ia para cama com sua mãe. Às vezes, quando ele estava dormindo no sofá, podia ouvi-los nos fundos. Não se lembrava de ouvir aquele tipo de coisa quando o pai era vivo, e não sabia o que pensar disso. Quando ficava muito alto, ele colocava o travesseiro sobre os ouvidos e tentava dormir.
Durante o verão, ele viu na internet anúncios de como ganhar corpo e comprou um DVD. Começou a fazer flexões e abdominais e vários outros exercícios. Não tinha dinheiro para os pesos que o DVD sugeria. O DVD custara o pouco dinheiro que poupara, dez centavos aqui, 25 ali. Troco que sua mãe lhe dava. Mas imaginou que, se sua poupança o impedisse de levar uma surra, valia cada centavo. Marvin era dedicado nos exercícios. Ele se entregava, e logo sua mãe comentou que parecia estar mais forte. Marvin também achava isso. Na verdade, ele tinha músculos. Seus braços estavam firmes, sua barriga, bem lisa, e coxas e panturrilhas tinham crescido. Já conseguia dar diretos e cruzados. Encontrou na internet um guia de como fazer isso. Estava pensando em trabalhar depois o uppercut, talvez o gancho, mas no momento só tinha dominado o direto e o cruzado. – Certo – falou ele para seu reflexo no espelho. – Que venham. Estou pronto.
Depois do primeiro dia de aulas no outono, Marvin foi para casa pelo mesmo caminho que tomara naquele dia fatídico em que levara uma surra. Não sabia como se sentia sobre o que estava fazendo. Por um lado esperava nunca mais vêlos, e por outro se sentia mais forte, sentia que podia cuidar de si mesmo. Marvin enfiou a mão no bolso e sentiu o dinheiro que tinha ali. Não era muito. Mais ou menos um dólar em trocados. Mais dinheiro poupado do que sua mãe lhe dera. E estava com a mochila nas costas. Eles poderiam querer aquilo. Tinha de se lembrar de tirar aquilo, colocar de lado caso tivesse de brigar. Nenhum incômodo. Quando chegou no lugar do acontecido não havia ninguém. Ele foi para casa um pouco desapontado. Teria gostado de bater nas cabeças deles.
***
No terceiro dia depois da escola ele teve sua chance. Dessa vez eram apenas dois deles: Barriga Dura e um dos pilantras que estava com ele antes. Quando o viu, Barriga Dura sorriu e foi na direção de Marvin, o pilantra seguindo atrás como que querendo migalhas. – Ora veja – disse Barriga Dura ao chegar mais perto. – Lembra de mim? – Sim – respondeu Marvin. – Você não é muito inteligente, não é, garoto? Achei que tinha se mudado. Achei que nunca mais teria uma chance de acertar você. Quero que saiba que aquele velho me pegou de surpresa. Eu poderia ter chutado a bunda dele de segunda até domingo. – Você não consegue dar uma surra em mim, quanto menos nele.
– Ah, então no verão você ganhou colhões. – Um belo par. – Belo par, hein? Aposto que consigo tomar sua mochila e fazer você beijar meus sapatos. Posso fazer você beijar minha bunda. – Eu vou dar uma surra nela – retrucou Marvin. A expressão do valentão mudou, e Marvin não se lembrava de muito mais depois disso. Ele só acordou quando Barriga Dura estava curvado, dizendo: – Agora beije. Fazendo biquinho. Uma linguinha também seria legal. Se não fizer, Pogo aqui vai pegar sua faca e cortar fora seu pau. Está ouvindo? Marvin olhou para Barriga Dura. Barriga Dura tinha baixado as calças e se curvado com as mãos nos joelhos, o cu piscando para Marvin. O pilantra estava revirando a mochila de Marvin, jogando coisas à esquerda e à direita. – Lamba ou vai ser cortado – concluiu Barriga Dura. Marvin tossiu um pouco de sangue e começou a tentar engatinhar para longe. – Lambe – mandou Barriga Dura. – Lambe até eu achar bom. Vamos lá, garoto. Prove um pouco de merda. Um pé se projetou e parou entre as pernas de Barriga Dura, acertando seus bagos com um som como o do rabo de um castor batendo na água. Barriga Dura berrou e caiu de cabeça, como se tentasse plantar bananeira. – Nunca faça isso, garoto – disse uma voz. – É melhor ter sua garganta cortada. Era o velho. Estava de pé, perto. Dessa vez, não segurava as calças. Estava de cinto. Pogo foi até o velho e lançou uma direita selvagem contra ele. O velho não pareceu se mover muito, mas de algum modo ficou abaixo do golpe e, quando se ergueu, o direto no queixo que Marvin não praticara estava em exibição. Acertou Pogo debaixo do queixo, houve um som estalado, e então o pilantra pareceu perder a cabeça por um momento. O que o fez esticar o pescoço como se fosse feito de borracha. Saliva voou da boca de Pogo, que desabou no cimento como uma trouxa de roupas. O velho foi balançando até Barriga Dura, que estava de quatro, tentando se levantar, as calças caídas nos tornozelos. O velho o chutou entre as pernas duas vezes. Os chutes não foram bonitos, mas foram sólidos. Barriga Dura cagou e caiu de cara. – Você precisa se limpar – falou o velho. Mas Barriga Dura não escutava. Estava caído no cimento, fazendo o ruído de um caminhão tentando ligar. O velho se virou e olhou para Marvin. – Eu achei que estava pronto – explicou Marvin. – Você não está nem perto disso, garoto. Se conseguir andar, venha comigo. Marvin conseguia andar, mal. – Você tem confiança em algum lugar. Eu vi isso de imediato. Mas não tem nenhum motivo para isso. – Eu fiz alguns exercícios. – É, bem, nadar em terra seca não é a mesma coisa que mergulhar. Há coisas que pode fazer que são apenas no ar, ou com um parceiro, que podem fazer diferença de verdade, mas você não tem habilidade natural para nada. Se eu não tivesse aparecido você estaria lambendo o rego de alguém e chamando de sorvete. Eu vou lhe dizer, filho. Nunca faça isso. A não ser que seja o traseiro de uma dama e você tenha sido convidado. Se alguém quiser obrigá-lo a fazer algo assim, morra primeiro. Se fizer esse tipo de coisa uma vez, sentirá o gosto de merda em sua boca pelo resto da vida. – Acho que é melhor do que estar morto – opinou Marvin. – Não, não é. Eu vou lhe contar. Uma vez, eu tive um cachorrinho. Não era grande, mas tinha um coração grande. Eu e ele fazíamos caminhadas. Um dia, estávamos caminhando... não era longe daqui... e havia um pastor alemão farejando umas latas de lixo. Um cachorro velho parecendo durão, que foi atrás do meu cachorrinho. O nome dele era Mike. E foi uma briga infernal. Mike não desistiu. Ele lutou até a morte. – Ele foi morto? – Não. O pastor foi morto. – Mike matou o pastor? – Não. Claro que não. Estou sacaneando você. Eu acertei o pastor com uma tábua. Mas a lição aqui é que você tem de dar o melhor de si, e às vezes tem de esperar que haja alguém do seu lado com uma tábua. – Está me dizendo que eu sou Mike e você é o cara com a tábua? – Estou dizendo que você não pode lutar por merda. É o que eu estou dizendo. – O que aconteceu com Mike? – Foi atropelado por um caminhão que ele estava perseguindo. Mike era durão e disposto, mas não tinha bom senso. Meio como você. A diferença é que você não é durão. Outra desvantagem sua é não ser um cachorro. Mais uma coisa, é a segunda vez que eu o salvo, então você me deve algo. – O que seria? – Bem, você quer aprender a lutar, certo? Marvin anuiu. – E eu preciso de um parceiro de exercícios.
O velho não morava longe do local da briga. Era um grande prédio de concreto com dois andares. As janelas estavam cobertas por madeira. Quando chegaram à porta da frente, o velho sacou uma série de chaves e começou a trabalhar em várias trancas. Enquanto fazia isso, dizia: – Você fica de vigia. Eu tenho que ser cuidadoso quando faço isso, porque sempre tem um babaca querendo invadir. Tive de machucar alguns cretinos mais de uma vez. Motivo pelo qual mantenho aquela perna de três ali na lata. Marvin olhou. De fato havia uma perna de três enfiada numa grande lata de lixo. A perna de três era tudo que havia nela. O velho destrancou a porta e eles entraram. O velho acendeu algumas luzes e tudo ficou claro. Depois trabalhou nas trancas, fechando-as. Eles seguiram por um corredor estreito até um espaço amplo – um espaço muito amplo. Lá havia uma cama e um toalete aberto na parede mais distante, e na outra parede uma comprida mesa de tábuas e algumas cadeiras. Havia uma chapa elétrica na mesa, e acima e atrás dela algumas prateleiras cheias de comida enlatada. Uma velha geladeira. Fazia um zumbido alto, como uma criança com um machucado na cabeça. Junto à mesa existia uma pia, e perto dela, um chuveiro com uma cortina outrora verde pendurada numa barra de metal. Uma TV estava abaixo de alguns cartazes na parede, além de cadeiras grossas com o enchimento escapando. Havia um ringue de boxe no meio da sala. No ringue, um tapete grosso todo coberto de fita adesiva. Os pôsteres desbotados eram de homens de malha, agachados em posições de boxe ou luta livre. Um deles dizia “Danny Bacca, XMan”. Marvin estudou o cartaz. Estava um pouco amassado nos cantos, mal emoldurado e com o vidro coberto de poeira. – Sou eu – falou o velho. Marvin se virou e olhou para o velho, depois voltou o olhar para o pôster. – Sou eu antes das rugas e dos joelhos ruins. – Você foi lutador profissional? – Não, vendia sapatos. Você é meio lento, garoto. Que bom que eu estava dando minha caminhada ou as moscas ficariam com você para o almoço. – Por que você era chamado de X-Man? – Porque, quando você subia no ringue comigo, eles riscavam seu nome da lista. Colocavam um X no seu nome. Merda, acho que era isso. Já faz tanto tempo que não tenho mais certeza. Por falar nisso, qual é o seu nome? – Marvin. – Certo, Marvin, vamos até o ringue.
O velho passou pelas cordas facilmente. Marvin descobriu que elas estavam bem esticadas, e teve mais dificuldade em ultrapassá-las do que pensou. – É o seguinte. O que vou fazer é lhe dar uma primeira aula, e você irá me escutar. – Certo. – O que quero, e não estou de sacanagem com você, é que você se jogue contra mim com toda força que tiver. Tente me acertar, me derrubar, arrancar minha orelha com os dentes. Qualquer coisa. – Eu não posso machucar você. – Eu sei disso. – Não estou dizendo que não estou disposto – explicou Marvin. – Estou dizendo que sei que não posso. Você bateu duas vezes num cara com quem eu tive dificuldades, portanto sei que não posso machucar você. – Você tem razão, garoto. Mas quero que tente. É uma aula. – Você vai me ensinar como me defender? – Claro. Marvin investiu, abaixado, planejando pegar os pés do velho. O velho agachou, quase sentando, e lançou um direto rápido no queixo. Marvin sonhou que estava voando. Depois caindo. As luzes do lugar foram vistas de repente. Depois sumiram, e só ficou a claridade. Marvin rolou no tapete e tentou se levantar. Seu olho doía terrivelmente. – Você me acertou – falou ele quando conseguiu se sentar. O velho estava em um canto do ringue, apoiado nas cordas. – Não dê atenção a merdas como alguém dizendo “Venha me pegar”. Isso é tolice. Isso é conduzir você a alguma coisa de que pode não gostar. Faça seu próprio jogo. – Mas você mandou. – Isso mesmo, garoto, mandei. Essa é sua primeira lição. Pense por si mesmo e não escute qualquer idiota lhe dando conselhos. E, como eu disse, faça seu próprio jogo. – Eu não tenho um jogo – retrucou Marvin. – Ambos sabemos disso, garoto. Mas podemos dar um jeito. Marvin tocou no olho com cuidado. – Então, você vai me ensinar? – É, mas a segunda lição é essa. Agora tem de prestar atenção em todas as minhas malditas palavras. – Mas você disse... – Eu sei o que eu disse, mas parte da lição dois é esta: a vida é cheia de todo tipo de contradição.
Era fácil dar uma escapada para ir treinar, mas não era fácil chegar lá. Marvin ainda tinha que se preocupar com os agressores. Ele levantava cedo e ia, dizendo à mãe que estava se exercitando na pista da escola. A casa do velho era o que restara de um antigo hospital de tuberculosos, motivo pelo qual comprara barato, em algum ponto no começo do Jurássico, imaginava Marvin. O velho o ensinou a se mover, socar, lutar, arremessar. Quando Marvin arremessava o X-Man, o velho pousava com leveza e levantava rapidamente, se queixando de como o movimento foi feito. Quando terminavam os exercícios, Marvin tomava uma chuveirada no quarto grande atrás da cortina desbotada e ia para casa pelo caminho mais longo, procurando valentões. Depois de um tempo, ele começou a se sentir seguro, tendo descoberto que qualquer que fosse o horário dos valentões, não era de manhã cedo nem parecia ser no começo da noite. Quando o verão terminou e as aulas recomeçaram, Marvin treinava antes e depois da escola, dizendo à mãe que estava estudando pugilismo com uns garotos na ACM. Para ela, estava tudo bem. Só tinha cabeça para o trabalho e o pintor de paredes. O cara estava sentado lá quando Marvin chegava à noite. Sentado olhando para a TV, nem mesmo acenando quando Marvin entrava, algumas vezes sentado na cadeira de TV estofada, com a mãe do garoto sentada em seus joelhos, o braço ao redor da cintura, ela rindo como uma colegial. Era suficiente para fazer uma larva engasgar. Acabou que em casa não era um lugar onde Marvin quisesse estar. Ele gostava da casa do velho. Gostava do treinamento. Lançava esquerdas e direitas, ganchos e diretos numa bolsa que o velho tinha pendurado. Servia de sparring para o velho que, assim que ficava cansado – e, considerando a idade dele, parecia muito tempo –, o derrubava e ia se apoiar nas cordas e respirar pesado por um tempo. Certo dia, depois de terminarem, sentados em cadeiras perto do ringue, Marvin perguntou: – Então, como eu o estou ajudando a treinar? – Para começar você é um corpo quente. E eu tenho uma luta pela frente. – Uma luta? – O que você é, um eco? É. Eu tenho uma luta pela frente. A cada cinco anos eu e Jesus, a Bomba, lutamos. Na véspera de Natal. Marvin olhou para ele. O velho devolveu o olhar. – Acha que estou velho demais? Quantos anos você tem? – Dezessete. – Posso dar uma surra na sua bunda, garoto? – Todo mundo pode dar uma surra na minha bunda. – Certo, você está certo quanto a isso – concordou o velho. – Por que a cada cinco anos? Quem é esse Jesus? – Talvez eu lhe conte mais tarde.
As coisas ficaram ruins em casa. Marvin odiava o pintor, e o pintor o odiava. Sua mãe amava o pintor e ficava do lado dele. Tudo que Marvin tentava fazer, o pintor criticava. Ele não conseguia levar o lixo para fora rápido o bastante. Para o pintor, ele não estava se saindo bem o suficiente na escola, como se o próprio tivesse passado do jardim de infância. Nada o satisfazia e, quando Marvin reclamava com a mãe, era o pintor que ela defendia. O pintor não era nada como seu pai, em nada, e ele o odiava. Um dia, disse à mãe que estava farto. Era ele ou o pintor. Ela escolheu o pintor. – Bem, espero que o filho da puta da pintura vagabunda a faça feliz. – Onde você aprendeu essa linguagem? Ele tinha aprendido muito dela com o velho, mas respondeu diferente: – Com o pintor. – Não foi, não. – Foi também. Marvin colocou suas coisas em uma mala que pertencia ao pintor e foi embora. Esperou que a mãe fosse correndo atrás dele, mas não foi. Ela gritou quando ele subia a rua: – Você é grande o bastante. Vai ficar bem. Ele se viu na casa do velho. Do lado de dentro, mala na mão, o velho olhou para ele, apontou para a mala e perguntou: – O que está fazendo com essa merda? – Eu fui colocado na rua – contou Marvin. Não exatamente a verdade, mas achou que era perto o suficiente. – Está querendo ficar aqui? É isso o que deseja? – Só até eu me aprumar. – Aprumar? Você não tem emprego. Você não tem um pau. Você é a porra de um vagabundo. – É... tudo bem. Marvin se virou, pensando que talvez pudesse ir para casa beijar um traseiro, talvez dizer ao pintor que ele era um cara legal ou algo assim. Chegou à porta. – Aonde você está indo, cacete? – perguntou o velho. – Embora. Era o que você queria, não era? – Eu disse isso? Disse algo parecido com isso? Eu disse que você era um vagabundo. Não disse nada sobre ir embora. Aqui. Me dê a maldita mala. Antes que Marvin pudesse fazer alguma coisa, o X-Man a pegou e seguiu pelo corredor na direção do grande salão. Marvin o observou enquanto ia: um velho musculoso, de cabelos brancos, ficando careca, mancando um pouco ao caminhar, com pernas arqueadas.
Certa noite, assistindo à luta livre na TV, o velho, depois de ter virado seis cervejas, falou: – Isso é uma merda. Um bando de malditos acrobatas durões. Isso não é luta. Não é boxe, e com certeza não é briga. É como um filme ou algo assim. Quando lutávamos em feiras, lutávamos mesmo. Esses bundões não diferenciam uma chave de braço de um pau latejando. Olhe essa merda. O cara espera que o escroto suba nas cordas e pule nele. E que tipo de golpe é esse? Se fosse um golpe de verdade, o escroto que fosse atingido na garganta assim estaria morto. Ele está dando tapas no alto do peito do cara. Cretinos. – Onde vocês lutavam? O velho desligou a TV. – Não aguento mais essa merda... Onde eu lutava? Eu viajava de trem durante a Grande Depressão. Tinha 10 anos e ia de cidade em cidade, via os caras lutando em feiras e comecei a aprender. Quando fiz 15 anos, disse que tinha 18 e eles acreditaram em mim de tão feio que eu era, sabe? Então, no final da Grande Depressão eu estava lutando em toda parte. Vejamos, estamos em 1992, então já faço isso há algum tempo. Quando chegou a guerra, eles não me aceitaram por causa de uma hérnia. Eu costumava enrolar aquela porra com um monte de faixas de pano para lutar. Poderia ter combatido japas enrolado assim se tivessem deixado. Tinha que parar às vezes quando as bolas saíam pelo rasgo no meu saco. Eu cruzava as pernas, me encolhia todo e puxava tudo de volta, enrolava as tiras de pano e continuava. Poderia ter feito isso na guerra, mas eles ficaram cheios de frescura. Disseram que seria um problema. Então, não matei japas. Mas poderia. Alemães. Húngaros. Marcianos. Poderia matar qualquer um que colocassem na minha frente. Claro, de certo modo fico contente por não ter feito. Não é bom matar um homem. Mas os filhos da puta estavam pedindo isso. Bem, não sei sobre os húngaros ou os marcianos, mas o resto dos desgraçados estava. Eu aprendi a lutar apanhando. De tempos em tempos, encontrava uns caras que sabiam uma ou duas coisas e aprendia. Alguns truques japas e coisas assim. Eu tinha parentes no México. Então, quando tinha 20 e poucos anos fui para lá e me tornei lutador por dinheiro. – Aquilo não é fingido? O velho lançou um olhar sobre Marvin que fez o sangue dentro do seu corpo ferver. – Havia os que faziam espetáculos, mas havia nós. Eu e Jesus, e outros como nós. Era de verdade. Batíamos, chutávamos, dávamos chaves e arremessávamos. Olhe isto. O velho levantou a manga de sua camisa. Havia ali uma marca como de pneu. – Está vendo isso? Jesus me mordeu. Eu o tinha prendido numa chave e ele me mordeu. Desgraçado. Eu teria feito o mesmo, é claro. De qualquer modo, ele se soltou graças a isso. Ele tinha uma técnica: a Bomba, como chamava, que foi como conseguiu o apelido. Ele pegava você num abraço de urso, pela frente ou pelas costas, o erguia e caía para trás batendo com sua cabeça no tapete. Depois de uma ou duas dessas, você sentia que suas orelhas estavam se mexendo no seu traseiro. Era uma coisa. Eu tinha a chave de passo sobre dedão. Era meu movimento, e ainda é. – Você o usou com Jesus? – Não. Ele usou a Bomba em mim. Depois da Bomba, achei que estava na África fodendo um gorila. Não distinguia meu pau de um pavio de vela. – Mas você ainda luta com ele? – Eu ainda não o derrotei. Tentei todas as chaves que existem, todas as jogadas, todo tipo de psicologia que conheço, e nada. É a mulher. Felina Valdez. Ela meio que colocou um feitiço em mim. O encantamento, a bruxaria e o apito de cachorro silencioso. Seja o que for que o deixa idiota, ela colocou em mim. Marvin não conseguia acompanhar tudo aquilo, mas não disse nada. Tomou seu copo de chá enquanto X-Man bebia outra cerveja. Sabia que acabaria voltando ao assunto. Era assim que ele funcionava. – Deixe-me contar a você sobre Felina. Ela era uma donzela de olhos pretos, tinha pele escura macia. Se um padre a visse caminhando pela rua iria para casa cortar a garganta. Na primeira vez que a vi, aquela pilha de dinamite estava em um vestido azul tão apertado que você podia contar os pelos em você sabe onde. Ela estava lá na multidão para ver a luta. Na primeira fila com as pernas cruzadas, seu vestido subia pela perna como uma cobra se arrastando, e eu estava dando uma bela olhada, sabe? Não vendo o cânion coberto de trepadeiras, mas a vizinhança. E olhando para aquela abertura eu quase fui morto por um lutador chamado Joey, o Yank. Um cara do Maine que puxou minhas pernas, me deu uma cabeçada e uma chave de braço. Só por pouco consegui sair dela, pegálo, derrubá-lo e prendê-lo em minha chave de passo sobre dedão. Quando faço isso, você passeia pelo tempo, querido. Passado e futuro, e então está olhando para o próprio túmulo. Ele apagou. “Quando vi, aquela bonequinha de vestido azul estava vindo até mim, pegando meu braço e, bem, garoto, a partir desse momento eu era um homem condenado. Ela sabia fazer mais truques com um pau do que um mágico podia fazer com um baralho. Achei que ela ia me matar, mas também achei que era um jeito infernal de partir. Entende o que estou dizendo?” – Sim, senhor. – Esse é um papo meio sujo para um garoto, não é? – Não, senhor. – Foda-se. Você tem quase 18, cacete. A esta altura você já deve saber sobre bocetas. – Eu sei o que é. – Não, garoto. Você fala como se soubesse onde fica, não o que é. Eu estava perdido nela. Podia muito bem ter colocado meus bagos numa prensa e apertado. Ela começou a ir a todas as minhas lutas. E logo notei uma coisa. Se eu tinha um grande desempenho, vencia por uma boa margem, o sexo era ótimo. Se era uma luta medíocre, igualmente era na cama. Eu tinha sacado isso. Ela não me amava tanto quanto gostava de uma boa luta. O meu movimento de encerramento, a chave de passo sobre dedão, ela me fez ensinar a ela. Uma vez, deixei que fizesse comigo, e garoto, vou lhe dizer, o modo como ela travou, de repente senti alguma misericórdia das pessoas nas quais eu tinha usado isso. Realmente tive de escapar daquilo como se estivesse em uma luta, porque ela não estava me dando folga. Mas esse foi um preço pequeno a pagar por todo o amor selvagem que estava tendo; e então tudo desmoronou. “Jesus me derrotou. Usou a Bomba em mim. Quando acordei estava novamente no parque de diversões, deitado na grama com as formigas me mordendo. Quando me dei conta, Felina tinha ido embora. Ela foi com Jesus. Pegou meu dinheiro, me deixou sem nada senão mordidas de formiga nos bagos.” – Ela parece superficial. – Como um pires, garoto. Mas, assim que ela colocou aquele feitiço em mim, não consegui me soltar. Vou lhe contar, era como estar de pé no meio de uma ferrovia à noite e ver um trem chegando, a luz varrendo os trilhos, e não conseguir fugir. Só ficar ali e esperar que o acerte. Certa vez, quando estávamos juntos, caminhávamos pela Cidade do México, onde eu tinha umas lutas, e ela viu um sujeito com uma gaiola cheia de pombos, seis ou sete deles. Ela me fez comprar todos eles, como se fôssemos levar de volta para os Estados Unidos. Mas ela os levou para nosso quarto de hotel. Tivemos de nos esgueirar para dentro com eles. Ela colocou a gaiola numa mesinha de cabeceira e ficou olhando. Eu dei um pouco de pão para eles, porque tinham de comer, limpei a gaiola e fiquei pensando: essa garota é louca por pássaros. Fui tomar uma chuveirada e disse a ela para pedir comida. “Passei um tempo lá. Caguei, fiz a barba e tomei uma bela chuveirada quente. Quando saí ela está lá, sentada junto a uma daquelas mesinhas de empurrar que o serviço de quarto leva, comendo galinha frita. Não esperou por mim, não falou nada. Ela era assim. Tudo dizia respeito a ela. Mas naquele momento aprendi outra coisa. Olhei para a gaiola de pássaros, e todos estavam mortos. Perguntei o que tinha acontecido, e ela respondeu: ‘Cansei deles.’ Eu fui lá ver e os pescoços deles estavam torcidos.” – Mas por quê?
O velho recostou e bebeu sua cerveja, esperou um tempo antes de responder. – Não sei, garoto. Naquele instante, eu deveria ter jogado minhas merdas numa sacola e sumido dali. Mas não fiz isso. É como falei sobre os trilhos do trem. Cristo, garoto! Você deveria tê-la visto. Nunca houve nada como ela e eu não podia deixá-la ir embora. É como se você pegasse o melhor peixe do mundo, alguém lhe dissesse para jogar de volta na água e você só consegue pensar naquela coisa frita em cima do arroz. Só que não é nem um pouco assim na verdade. Não há como descrever. E então, como disse, ela foi embora com Jesus e todo dia que me levanto meu coração arde por ela. Minha mente me diz que tenho sorte de ter me livrado dela, mas meu coração, ele não escuta. Eu nem culpo Jesus pelo que ele fez. Como poderia não querê-la? Ela pertencia a quem conseguisse prender o outro na lona. Eu e ele, não lutamos mais com ninguém. Só um com o outro. A cada cinco anos. Se eu vencer, a pego de volta. Sei disso. Ele sabe disso. E Felina sabe disso. Se ele vencer, fica com ela. Até agora ele ficou com ela. Melhor assim. Eu deveria deixar para lá, garoto, mas não consigo. – Ela é assim tão má? – Ela é a melhor garota má que já existiu. Ela é uma maçã vermelha brilhante com um verme no meio. Desde que aquela mulher está com Jesus, ele largou uma esposa, dois de seus filhos morreram, um num incêndio em casa que aconteceu quando ele estava fora, e Felina deu à luz dois bebês que morreram em uma semana. Algum tipo de coisa acontece. Morte no berço, algo assim. Além disso, ela trepou com todo mundo, descontando dois eunucos, mas continua com Jesus, e ele fica com ela. Fica porque ela tem um poder, garoto. Ela consegue fazer você grudar nela como um câncer de fígado. Não há como se afastar daquela piranha. Se ela deixa você ir embora, você ainda a quer como quer uma bebida quando é um bêbado. – O modo como você mencionou o incêndio e os filhos de Jesus, os dois bebês que morreram... Você pareceu... – Como se não acreditasse que o incêndio tivesse sido acidental? Que os bebês não tiveram morte natural? É, garoto. Eu estava pensando na gaiola cheia de pombos. Estava pensando em como ela costumava cortar meu cabelo e como tinha uma caixinha com ela, que levava na bolsa que carregava. Eu a vi enrolar alguns fios de cabelos no nó de dois limpadores de cachimbo torcidos. Ah, inferno. Você já acha que eu sou maluco. Marvin balançou a cabeça. – Não. Não acho, não. – Então, tudo bem. Eu acho que ela colocou um feitiço em mim. Li em algum lugar que as pessoas podem pegar um fio do seu cabelo e usar isso como parte de um feitiço, e isso prende você a elas. Eu li isso. – Não significa que seja verdade. – Sei disso, garoto. Sei como isso soa. E quando é no meio do dia eu acho que pensar assim é besteira, mas quando anoitece, ou é começo da manhã e só está começando a clarear, eu acredito. E acho que sempre acreditei. Acho que ela me colocou um feitiço. Porque mais nada explicaria eu querer de volta aquela piranha traidora, traiçoeira, assassina de pombos, incendiária de casas e assassina de bebês. Isso não faz sentido, faz?
– Não, senhor – concordou Marvin, e depois de um momento acrescentou: – Ela agora já é bastante velha, não é? – Claro que é. Acha que o tempo parou? Ela não é a mesma. E nem eu sou. Nem Jesus é. Mas isso é entre ele e eu, e um de nós fica com a garota, e até agora ele sempre fica com ela. O que quero é tê-la de volta, morrer rápido e ter um daqueles funerais gregos. Dessa forma fico com o prêmio, mas não tenho de aturá-lo. – O que é um funeral grego? – Heróis como Hércules tinham isso. Quando ele morreu, o colocaram numa pilha de madeira e tudo mais e queimaram o corpo, deixaram que sua fumaça subisse aos céus. Melhor que ser enterrado no chão ou assado num forno, com suas cinzas depois raspadas para um saco. Ou ter de passar os últimos dias com aquela mulher, embora seja o que estou tentando fazer. – Jesus e Felina moram aqui na cidade? – Eles não moram em lugar nenhum. Eles têm um trailer. E algum dinheiro de aposentadoria. Assim como eu. Jesus e eu tivemos outros empregos além de lutar. Você não conseguia viver apenas do circuito de lutas, especialmente o circuito clandestino, então, recebemos algum dinheiro de ajuda social, graças a Deus. Eles circulam por diferentes lugares. Ele treina e volta a cada cinco anos. Sempre que o vejo é como se ele tivesse um olhar que diz: “Me derrote desta vez e tire essa piranha das minhas mãos.” Só que ele sempre luta como um urso e eu não consigo derrotá-lo. – Se você vencer está certo que ela ficará com você? – É ele ou eu, e só existe isso. Não há mais ninguém agora. Ele ou eu. Foi de nós que ela decidiu sugar tudo e a quem deixar infeliz. – Você não pode esquecer isso? X-Man riu. Foi um riso soturno, como um homem à morte que de repente entende uma antiga piada. – Gostaria de poder, garoto, porque se pudesse, deixaria.
Eles treinaram para a luta. X-Man dizia: “Isto é o que Jesus, a Bomba, faz. Ele se aproxima, e depois, você sabe, está de traseiro no chão, porque ele te agarra assim, ou assim. E ele pode passar disto pra isto.” E assim por diante. Marvin fazia o que ele mandava. Tentava os movimentos de Jesus. Sempre que fazia, perdia. O velho o torcia, jogava, dava uma chave, socava (de leve) e, mesmo quando Marvin sentia que estava ficando bom naquilo, X-Man o superava no fim e saía de algo de que, para Marvin, uma doninha coberta de óleo não conseguiria escapar. Quando terminava, era Marvin ofegante num canto e X-Man limpando o suor do rosto com uma toalha. – É como Jesus faz isso? – perguntou Marvin, depois de tentar todos os golpes que aprendera. – É, com a diferença de que ele faz melhor.
Isso durou meses, chegando cada vez mais perto do dia em que X-Man e Jesus, a Bomba, iriam lutar. Marvin se concentrou tanto no treinamento que se esqueceu dos valentões. Até que, certo dia, ele estava sozinho, voltando da loja que ficava a dois quarteirões da casa do velho, carregando um saco com leite e biscoitos de baunilha, e lá estava Barriga Dura. Ele viu Marvin e atravessou a rua, tirando as mãos dos bolsos, sorrindo. – Ora veja – disse Barriga Dura quando chegou perto de Marvin. – Aposto que se esqueceu de mim, não foi? Como se eu não fosse me vingar. Desta vez você não está com o fóssil para protegê-lo. Marvin pousou o saco na calçada. – Não quero problemas. – Isso não significa que não terá alguns – respondeu Barriga Dura, parando de pé bem na frente de Marvin. Marvin não tinha planejado nada – não estava pensando naquilo –, mas quando Barriga Dura chegou mais perto sua mão esquerda se projetou e o acertou no nariz. Barriga Dura caiu como se tivesse sido atingido por um taco de beisebol. Marvin não conseguiu acreditar, não conseguiu acreditar em como seu soco era forte, em quão bom era. Ele soube ali e naquela hora que havia terminado entre ele e Barriga Dura, porque não sentia mais medo. Pegou o saco e caminhou de volta para a casa do velho, deixando Barriga Dura cochilando.
Certa noite, no feriado escolar de Ação de Graças, Marvin acordou. Estava dormindo no ringue de boxe, um cobertor sobre o corpo, e viu que havia uma luz acesa junto à cama do velho. Ele estava sentado na beirada da cama, curvado, tirando caixas de debaixo dela. Enfiou a mão dentro de uma e tirou uma revista, depois outra. Espalhou as revistas na cama e olhou para elas. Marvin se levantou, desceu no ringue e foi até lá. O velho ergueu os olhos. – Maldição, garoto. Eu o acordei? – Eu acordei sozinho. O que está fazendo? – Olhando essas revistas velhas. São revistas de lutas clandestinas. Tive de encomendar pelo correio. Não dava para comprar nas bancas. Marvin olhou para as revistas abertas na cama. Havia muitas fotografias. Por causa do cartaz na parede ele reconheceu fotografias do X-Man. – Você era famoso – comentou Marvin. – De certa forma. Eu olho para isso e odeio estar envelhecendo. Eu não era uma beleza de se ver, mas era forte, parecia melhor do que agora. Não restou muito do meu eu jovem. – Jesus está nelas? X-Man virou uma página numa das revistas abertas e lá estava uma fotografia de um homem baixo e forte com cabeleira preta. O peito do homem era muito peludo. Tinha pernas que pareciam troncos de árvore. X-Man sorriu. – Sei o que está pensando: dois sujeitos feios como eu e Jesus, que espécie de ímãs amorosos nós somos? Talvez Felina não seja o mulherão que eu digo que é? O velho foi até a cabeceira da cama e tirou de debaixo dela uma pequena caixa de papelão. Colocou-a na cama entre os dois, abriu a tampa e revirou uma pilha de fotografias amareladas. Tirou uma delas. Estava ligeiramente desbotada, mas ainda dava para ver. A mulher nela parecia estar na casa dos 20 anos. De corpo inteiro. Ela de fato era um estouro. Cabelo preto, bochechas sobressalentes, lábios carnudos e olhos pretos como um poço, que saltavam da foto e pousavam em algum ponto no fundo da cabeça de Marvin. Havia outras fotos, e ele as mostrou a Marvin. Havia closes e fotos à distância, e fotos furtivas de sua bunda. De fato, ela era algo fabuloso de olhar. – Ela agora não é mais assim, mas ainda tem alguma coisa. O que eu ia fazer, garoto, era pegar todas essas fotos, empilhar e queimar, depois mandaria avisar Jesus que ele podia esquecer a luta. Que Felina seria dele até o final dos tempos. Mas penso isso a cada dois anos, e não faço. Você sabe o que Jesus me disse uma vez? Disse que ela gostava de pegar moscas. Usava um copo, as prendia, e depois passava uma agulha por elas, unindo-as num fio. Um monte delas. Amarrava uma das pontas, prendia a outra à parede com um percevejo e ficava observando enquanto elas tentavam voar. Esmagar uma mosca é uma coisa. Mas algo assim, eu não entendo, garoto. E sabendo disso eu não deveria ficar com ela. Mas a coisa não funciona assim... Vá para a cama. Eu vou desligar a luz e dormir. Marvin foi e se enfiou embaixo do cobertor, ajeitou o travesseiro sob a cabeça. Quando olhou para o velho ele ainda estava com a luz acesa e a caixa de papelão com as fotos no colo. Estava erguendo uma fotografia, olhando para ela como se fosse um convite gravado à mão para o Segundo Advento. Enquanto Marvin adormecia, só conseguia pensar naquelas moscas no fio.
No dia seguinte, o velho não o acordou para o exercício matinal e, quando Marvin abriu os olhos, era quase meio-dia. O velho não estava em lugar nenhum. Ele se levantou e foi à geladeira pegar leite. Havia um bilhete na porta. NÃO COMA DEMAIS. VOU TRAZER COMIDA DE AÇÃO DE GRAÇAS. Marvin não queria passar o dia de Ação de Graças com a mãe e o pintor, então nem pensara nisso. Quando a mãe o expulsou, ele esqueceu os feriados. Mas naquele momento pensou neles e torceu para que o pintor engasgasse com um osso de peru. Ele se serviu de um copo de leite e sentou numa cadeira junto ao ringue, bebendo. Pouco depois, o velho voltou com um saco de compras. Marvin se levantou e foi até ele. – Desculpe. Perdi o treinamento. – Você não perdeu nada. É a porra de um feriado. Mesmo alguém que precisa tanto de treinamento como você deve tirar um dia de folga. O velho tirou as coisas do saco. Peito de peru e um pouco de queijo fatiados e um belo pão, do tipo que você tem de cortar com faca. E havia uma lata de molho de mirtilo.
– Não é exatamente um grande peru para trinchar, mas vai servir – disse o velho. Eles fizeram sanduíches e se sentaram nas cadeiras em frente à TV com uma mesinha entre os dois. Botaram os pratos lá, o velho colocou um vídeo em seu aparelho antigo, e eles viram um filme. Em preto e branco. Marvin gostava de coloridos, e tinha certeza de que iria odiar. O título era Sombras do Mal. Era sobre luta. Marvin não odiou. Ele adorou. Comeu o sanduíche. Olhou para o velho mastigando sem a dentadura. Naquele instante, soube que o amava muito, como se fosse seu pai.
No dia seguinte eles treinaram duro. Marvin se tornara um desafio maior para o velho, mas ainda não conseguia derrotá-lo. Na manhã da luta contra Jesus, Marvin se levantou e foi à loja. Ele tinha um dinheiro que X-Man lhe dava de vez em quando por ser parceiro de treinamento e comprou algumas coisas, que levou para casa. Uma delas era uma garrafa de linimento, e quando voltou usou isso para fazer uma massagem no velho. Quando terminou, X-Man se esticou no chão sobre um colchão velho e adormeceu como um filhotinho. Enquanto ele dormia, Marvin levou o resto das coisas que tinha comprado para o banheiro e fez alguns arranjos. Carregou a sacola para fora, amassou e jogou no lixo. Depois fez o que o velho o instruíra a fazer. Tirou as cadeiras dobráveis do armário, 25 delas, e as colocou perto do ringue. Botou uma delas à frente das outras, mais próxima do ringue. Às quatro e quinze ele falou suavemente com o velho, despertando-o. O velho se levantou, tomou uma chuveirada e vestiu calções vermelhos e uma camiseta com uma fotografia de seu eu mais jovem. As palavras abaixo da fotografia diziam: X-MAN. Era véspera de Natal.
Eles começaram a chegar por volta das sete horas daquela noite. Usando bengalas, cadeiras de roda, andadores, apoiados uns nos outros e, em dois casos, caminhando sem ajuda. Chegaram ao lugar num ritmo irregular, e Marvin os ajudou a escolher uma cadeira. O velho tinha estocado um pouco de vinho barato e cerveja, e até mesmo saíra para comprar algumas caixas de biscoitos e um queijo bola de aparência suspeita. Ele arrumou isso numa comprida mesa dobrável à esquerda das cadeiras. Os idosos, em sua maioria homens, se lançaram sobre aquilo como abutres chegando a um animal recém-atropelado na estrada. Marvin teve de ajudar alguns dos que eram tão velhos e decrépitos que não conseguiam segurar um prato de papel e andar ao mesmo tempo. Marvin não viu ninguém que se parecesse com Jesus e Felina. Se uma das quatro mulheres era Felina, então ela tinha perdido todo o seu sex appeal, e se algum deles era Jesus, X-Man estava com a vitória nas mãos. Mas, claro, não era nenhum deles. Por volta de oito da noite, Marvin foi atender a uma batida forte na porta. Quando a abriu, lá estava Jesus. Vestia um roupão escuro com uma faixa vermelha. Estava aberto na frente, e Marvin viu que usava calções pretos, sem camisa. Estava grisalho onde restava cabelo em sua cabeça e havia um volume denso de pelos grisalhos em seu peito, aninhados ali como um ninho de pássaro cuidadosamente construído. Tinha o mesmo corpo símio da fotografia. A Bomba parecia facilmente ter dez anos menos que sua idade; movia-se com facilidade e bem. Com ele estava uma mulher alta, e era fácil reconhecê-la, mesmo a partir de fotos antigas. O cabelo continuava preto, embora a cor viesse agora de uma embalagem, e envelhecera graciosamente, o rosto parecia firme e os ossos, fortes. Marvin achou que talvez tivesse feito alguma cirurgia. Parecia uma estrela de cinema com 50 anos que ainda recebia papéis por sua beleza. Seus olhos eram como poços, e Marvin precisou ter cuidado para não cair dentro deles. Usava um vestido preto longo com casaco preto pendurado nos ombros de um modo sofisticado. Tinha um colarinho de pele que à primeira vista parecia bastante bom e à segunda vista dava sinais de desgaste como um animal adormecido com sarna. – Estou aqui para lutar – avisou Jesus. – Sim, senhor – respondeu Marvin. A mulher sorriu para Marvin, e seus dentes eram brancos e magníficos, parecendo tão reais quanto os dele. Nada foi dito, mas de algum modo ele sabia que devia pegar seu casaco e fez isso. Seguiu atrás dela e de Jesus e, ao ver Felina andar, Marvin se deu conta de que estava excitado. Ela era impressionante para cacete, considerando sua idade, e ele se lembrou de uma velha história que tinha lido sobre um súcubo, um espírito feminino que caçava os homens, esgotava-os sexualmente e tomava suas almas. Quando Felina entrou rebolando e o velho a viu, houve uma mudança em sua aparência. Seu rosto ficou afogueado e ele se empertigou. Ela era dona dele. Marvin guardou o casaco de Felina, e quando o pendurou no closet o cheiro que saiu dele era doce e hipnotizante. Achou que parte daquilo era perfume, mas sabia que a maior parte era ela. Jesus e X-Man trocaram um aperto de mão e sorrisos, mas o velho não conseguiu tirar os olhos de Felina. Ela passou pelos dois, como se ignorando a presença deles e, sem que lhe dissessem nada, ocupou a cadeira que fora colocada à frente das outras. O velho chamou Marvin e o apresentou a Jesus. – Este garoto é meu protegido, Jesus. É bastante bom. Como eu, talvez, quando comecei, se tivesse uma perna quebrada. Ambos riram. Até Marvin riu. Ele começara a entender o que era humor de luta livre e que na verdade recebera um grande cumprimento. – Acha que irá me derrotar este ano? – perguntou Jesus. – Às vezes acho que você não está tentando de verdade. – Ah, eu estou tentando, sim. Jesus ainda sorria, mas o sorriso parecia preso ali quando falou. – Se vencer, sabe que ela irá com você? O velho anuiu. – Por que continuamos a fazer isto? – perguntou Jesus.
X-Man balançou a cabeça. – Bem – disse Jesus. – Boa sorte. E falo sério. Mas você vai ter de lutar. – Sei disso – respondeu X-Man.
Era nove horas quando X-Man e Jesus tiraram os dentes e subiram ao ringue, passando algum tempo se alongando. Quase metade das cadeiras da plateia estava vazia, e aqueles sentados se espalhavam como pintas num dálmata. Marvin ficou do lado de fora das cordas no corner do velho. O velho foi até ali e se apoiou nas cordas. Um dos idosos na plateia, vestindo calças vermelhas quase até as axilas, arrastou sua cadeira para perto da lateral do ringue, raspando-a no chão. Tinha um sino de vaca na mão livre. Ele se acomodou na cadeira e colocou o sino sobre o joelho. Tirou um grande relógio do bolso da calça e o colocou sobre o outro joelho. Parecia sonolento. – Se fizermos isso daqui a cinco anos será em algum lugar do inferno e o diabo irá marcar o tempo para nós – disse X-Man a Marvin. – Certo – falou o homem do tempo. – Regras de velhos. Assaltos de dois minutos. Três minutos de descanso. Continua até ser dois de três ou alguém desistir. Todos prontos? Os dois lados disseram que estavam. Marvin olhou para Felina. Ela estava sentada com as mãos no colo. Parecia confiante e superior, como uma aranha esperando, paciente, uma mosca. O homem do tempo tocou o relógio com o polegar esquerdo e tocou o sino com a mão direita. X-Man e Jesus se chocaram com um som de batida, agarrando os joelhos um do outro para um arremesso, balançando e oscilando. Então, X-Man se ergueu de uma agachada e lançou uma esquerda rápida. Para espanto de Marvin, Jesus fez com que passasse por cima do ombro e golpeou XMan nas costelas. Foi um soco sólido, e Marvin viu que X-Man sentiu. X-Man cambaleou para trás e um idoso na pequena plateia vaiou. – Vá se foder – gritou X-Man para ele. X-Man e a Bomba se atracaram. Houve um choque de mãos e ombros, e Jesus tentou acertar uma joelhada no saco de X-Man. Mas ele conseguiu se virar o suficiente para receber o golpe na lateral da perna, não no ponto rígido. Eles giraram como amantes raivosos numa dança. Finalmente, X-Man fez um passo falso, saltou na direção do joelho do oponente e o segurou, mas Jesus se contorceu, passou uma perna sobre a cabeça de X-Man, prendeu-a sob o pescoço e rolou, agarrando o braço, esticando-o e em seguida erguendo a pelve contra ele. Houve um som como o de alguém batendo uma vara no joelho, e X-Man bateu. Isso encerrou o assalto. Tinha durado menos de 45 segundos. X-Man cambaleou até seu canto do ringue, segurando o braço. Apoiou nas cordas. Marvin pegou o banco. – Tire isso daqui – mandou o velho. – Não quero que eles achem que estou machucado. Marvin tirou. – Você está machucado?
– Sim, mas aquele estalo que você ouviu foram apenas bolhas de ar no meu braço. Estou bem. Porra. Pegue o banco. Marvin pegou o banco. X-Man se sentou. Do outro lado, Jesus estava sentado no seu banco, a cabeça caída. Ele e X-Man pareciam dois homens que não se importariam de levar um tiro. – Eu sei disso – disse X-Man. – Esta é minha última luta. Depois, não vai sobrar mais nada de mim. Posso sentir o que restou de mim escorrendo. Marvin espiou Felina. Uma das luzes do teto estava queimando. Ela estourou, passou de luz para escuridão, e novamente para luz. Marvin pensou por um momento que ali na sombra Felina parecera mais velha e má, e seu cabelo grosso lembrava um bando de cobras. Mas quando olhou mais atentamente, era apenas a luz. O sino de vaca soou. Eles tinham recuperado um pouco do vigor. Deram voltas ao redor um do outro, mãos estendidas. Finalmente juntaram os dedos das duas mãos. X-Man de repente projetou os dedos de um modo que lhe permitiu apertar as costas das mãos de Jesus, e jogá-lo no chão de dor. Era uma manobra simples, mas colocara o rosto da Bomba em frente ao joelho de X-Man. X-Man deu uma joelhada tão forte no rosto dele que sangue espirrou sobre a lona, e sobre ele mesmo. Ainda agarrando os dedos de Jesus, X-Man recuou um passo e agachou, puxou Jesus até seu rosto. X-Man soltou os dedos e, quando Jesus tentou levantar, chutou-o no rosto. Foi um chute forte. Jesus caiu inconsciente. O sino de vaca badalou. O homem do tempo pousou o sino e foi até o ringue. Subiu e andou desajeitadamente até Jesus. Levou quase tanto tempo quanto um homem cego demoraria para achar uma agulha no palheiro. O homem do tempo se colocou sobre um joelho. Jesus grunhiu e se sentou lentamente. Seu rosto era um caos ensanguentado. O homem do tempo olhou para ele. – Você aguenta? – perguntou. – Que inferno, sim – respondeu Jesus. – Um a um! – gritou o homem do tempo e fez sua lenta peregrinação de volta à sua cadeira. Jesus se levantou devagar e voltou ao seu canto, tentando manter a cabeça erguida. X-Man estava sentado no banco, respirando com dificuldade. – Espero não ter quebrado nada dentro do velho escroto – disse. X-Man fechou os olhos e ficou descansando no banco. Marvin ficou calado. Achou que o velho estava dormindo. Três minutos depois o sino de vaca badalou. Jesus bufou alto, levantou os ossos do banco, cambaleou até o centro do ringue. X-Man avançou arrastando os pés devagar. Trocaram alguns socos, nenhum dos quais acertou muito bem. Surpreendentemente, ambos pareciam ter conseguido mais fôlego. Empurraram um ao outro, rolaram, soltaram alguns jabs, enfiaram dedos nos olhos, e o sino tocou de novo. – Meu coração parece um pássaro batendo as asas – contou o velho a Marvin, sentando-se na cadeira.
– Você deveria desistir – disse Marvin. – Isso não vale um ataque cardíaco. – Não está batendo asas por causa da luta, mas por ver Felina. Marvin olhou. Felina olhava para X-Man como um filhotinho olha para um petisco. – Não caia nessa – sugeriu Marvin. – Ela é má. Má pra cacete. – Então você acredita em mim? – Acredito. Acha que ela tem um daqueles limpadores de cachimbo no cabelo? – Como posso saber? – No casaco dela, talvez? – De novo. Como poderia saber? – repetiu. E então o velho entendeu. Ele sabia o que Marvin estava insinuando. – Você quer dizer, se ela estiver com eles, e você pegar... – É – confirmou Marvin. Marvin deixou X-Man sentado ali e foi em linha reta até o closet. Abriu a porta e moveu as mãos lá dentro, tentando parecer que fazia algo normal. Olhou de volta para X-Man, que se virara em seu banco para espiar. O sino de vaca tocou. Os dois velhos cavalheiros recomeçaram.
Foi furioso. Socos violentos em cabeça, costelas, barriga. Agarrando um ao outro, joelhadas nos sacos. Jesus até mesmo arrancou com uma dentada o lóbulo da orelha de X-Man. Sangue por toda parte. Era uma luta que seria impressionante se os dois homens no ringue estivessem com 20 anos, em plena forma. Na idade deles era fenomenal. Marvin estava de pé no canto do velho, tentando chamar atenção do X-Man, mas não de uma forma evidente. Não queria que perdesse a concentração, não queria que Jesus o acertasse por baixo, o erguesse e jogasse a cabeça do velho no chão como um dardo. Finalmente, os dois entraram em clinch. Giraram assim, respirando pesado como motores a vapor. Marvin conseguiu olhar nos olhos de X-Man e ergueu os dois limpadores de cachimbo amarrados, cabelo escuro no meio do nó. Marvin desenrolou os limpadores e os fios saíram flutuando como um punhado de caspa escura, pairando até o chão. X-Man soltou a respiração, pareceu relaxar. Jesus mergulhou sobre ele. Era como um falcão mergulhando sobre um rato. A coisa seguinte que Marvin viu foi Jesus segurando X-Man baixo nos quadris em um aperto de dois braços, e o erguendo, ao mesmo tempo que se curvava para trás para conseguir jogá-lo de cabeça, sobre a lona. Mas, enquanto passava, X-Man enfiou a cabeça sob as nádegas de Jesus, agarrando a parte interna de suas pernas. Jesus virou para trás, mas X-Man caiu de costas, não de cabeça. Em vez disso, sua cabeça se projetava entre as pernas de Jesus e suas gengivas sem dentes estavam cravadas nas coxas de Jesus, apertando suas bolas como um punho cerrado. Um grito se elevou da plateia. Jesus berrou. Era o tipo de berro que percorria sua coluna, grudava em seu cóccix e o puxava. X-Man manteve o aperto. Jesus se contorceu e retorceu, chutou e socou. Os socos acertaram X-Man no alto da cabeça, mas ele continuou grudado. Quando Jesus tentou rolar, X-Man rolou com ele, as gengivas ainda cravadas fundo nas bolas do adversário. Alguns dos idosos estavam de pé em seus lugares, berrando de excitação. Felina não se movera, nem mudara de expressão. Então aconteceu. Jesus bateu com as duas mãos na lona. – Tempo – pediu. E acabou.
Os idosos partiram. Exceto Jesus e Felina. Jesus passou um longo tempo no banheiro. Quando saiu, mancava. A parte da frente do calção estava inchada e escura de sangue. X-Man estava de pé, uma das mãos no encosto de uma cadeira, respirando pesado. – Você quase decepou minhas bolas, X-Man. Tomei uma de suas toalhas, enfiei nas calças para conter o sangramento. Você tem boas gengivas, X-Man. Com gengivas assim, não precisa nem de dentes. – Tudo é justo no amor e na guerra – retrucou X-Man. – Ademais, velho como você é, para que usa suas bolas? – Eu ouvi isso – disse Jesus, e toda a sua postura era diferente. Ele parecia um pássaro numa gaiola com a porta aberta. Estava prestes a sair voando. – Ela é toda sua. Todos olhamos para Felina. Ela deu um leve sorriso. Tomou a mão de X-Man. X-Man se virou e olhou para ela. – Eu não a quero – falou ele e soltou a mão. – Que inferno, eu de alguma forma vivi mais que meu pau. A expressão no rosto de Felina era de assombro. – Você a ganhou – comentou Jesus. – Essa é a regra. – Não – retrucou X-Man. – Não há regras. – Não? – repetiu Jesus, e quase dava para ver aquela porta da gaiola batendo e sendo trancada. – Não – respondeu X-Man, olhando para Felina. – Aquele feitiço que você fez com os limpadores de cachimbo. Meu garoto aqui o desfez. – De que porra você está falando? – reagiu Felina. Eles se encararam por um longo momento. – Vá embora – mandou X-Man. – E Jesus, não vamos mais fazer isto. – Você não a quer? – perguntou Jesus. – Não. Vá embora. Leve a piranha com você. Vá embora. Eles foram embora. Quando Felina fez a curva para pegar o corredor, parou e olhou para trás. Era um olhar que dizia: “Você me teve e me deixou ir, e irá lamentar.”
X-Man apenas sorriu para ela. – Pé na estrada, piranha velha.
Quando eles se foram, o velho se esticou em sua cama, respirando pesado. Marvin puxou uma cadeira para perto e se sentou. O velho olhou para ele e riu. – Aqueles limpadores de cachimbo e o cabelo não estavam no casaco dela, estavam? – O que quer dizer? – retrucou Marvin. – A expressão no rosto dela quando mencionei isso. Ela não sabia do que eu estava falando. Olhe para mim, garoto. Diga a verdade. Marvin esperou um momento. – Eu comprei os limpadores de cachimbo e graxa de sapato. Cortei um pouco do meu cabelo, escureci com a graxa e o torci nos limpadores de cachimbo. X-Man deu um grito. – Seu filho da puta sorrateiro. – Eu lamento. – Eu não. – Você não? – Não. Aprendi uma coisa importante. Sou uma porra de um otário. Ela nunca teve nenhum poder sobre mim que eu não tivesse lhe dado. Os limpadores de cachimbo com o cabelo, maldição, ela se esqueceu disso tão rápido quanto fez. Para ela, foi apenas um modo de passar o tempo, e transformei isso em algo especial. Era apenas eu me dando uma desculpa para amar alguém que não valia a pólvora necessária para explodir seu traseiro. Ela só gostava de ter poder sobre nós dois. Talvez Jesus também descubra isso. Talvez eu e ele tenhamos descoberto muita coisa hoje. Está tudo bem, garoto. Você agiu bem. Que inferno, não era nada que eu no fundo não soubesse, e agora não tenho mais desculpas e me livrei dela. É como se algo tivesse saído da minha garganta e agora consigo respirar de novo. Todos esses anos e essa coisa de Felina... Não foi nada além de mim mesmo e minha própria babaquice.
Por volta de sete da manhã, X-Man acordou Marvin. – Qual o problema? – perguntou Marvin. X-Man estava de pé acima dele. Dando um sorriso sem dentadura. – Nada. É Natal. Feliz Natal. – Para você também. O velho estava com uma camiseta. Ele a estendeu com as duas mãos. Dizia X-Man e tinha sua fotografia, igual à que ele vestia. – Quero que fique com ela. Quero que você seja X-Man. – Não posso ser X-Man. Ninguém pode. – Sei disso. Mas quero que tente. Marvin estava se sentando. Pegou a camisa. – Vista – ordenou X-Man. Marvin tirou sua camisa e, ainda sentado no chão, passou a camisa pela cabeça. Caiu bem. Ele se levantou. – Mas eu não lhe dei nada. – Deu sim. Você me libertou. Marvin anuiu.
– Como estou? – Como X-Man. Sabe, se eu tivesse um filho, teria uma sorte danada se ele fosse como você. Que inferno, se ele fosse você. Claro, isso implicaria eu comer sua mãe, e não queremos falar sobre isso. Agora, eu vou voltar a dormir. Talvez mais tarde possamos ter um jantar de Natal.
* * *
Mais tarde naquele dia, Marvin levantou, preparou café, fez dois sanduíches e foi acordar X-Man. Ele não acordou. Ele estava frio. Ele tinha partido. Havia revistas de luta deitadas na cama com ele. – Maldição – soltou Marvin, e se sentou na cadeira ao lado da cama. Segurou a mão do velho. Havia algo nela, uma foto amassada de Felina. Marvin a pegou, jogou no chão e segurou a mão do velho por um longo tempo. Depois, Marvin arrancou uma página de uma das revistas de luta, levantou e a colocou na chapa de cozinha. Pegou fogo. Ele se adiantou e a segurou queimando numa das mãos enquanto usava a outra para puxar uma das caixas de revistas. Colocou fogo nela e a empurrou de volta para baixo da cama. Chamas lamberam as beiradas da cama. Outras caixas pegaram fogo. As roupas de cama incendiaram. Depois de um momento, o velho também. Cheirava como porco sendo assado. Como Hércules, Marvin pensou. Ele está subindo até os deuses. Marvin, ainda vestindo sua camisa do X-Man, tirou o casaco do closet. A sala estava tomada pela fumaça e o cheiro de carne queimada. Vestiu o casaco e virou a esquina, passando para o corredor. Pouco antes de sair, pôde sentir o calor do incêndio aquecendo suas costas.
.
.
MEGAN LINDHOLM
Entre os livros de Megan Lindholm estão os romances de fantasia Wizard of the Pigeons, Harpy’s Flight, The Windsingers, The Limbreth Gate, Luck of the Wheels, The Reindeer People, Wolf’s Brother, e Cloven Hooves, o de ficção científica Alien Earth e, com Steven Brust, The Gypsy. Lindholm também escreve sob o pseudônimo Robin Hobb, best-seller do New York Times e um dos nomes mais populares no mundo da fantasia atual, tendo vendido mais de um milhão de exemplares. Como Robin Hobb, é mais conhecida por sua série de fantasia épica “A saga do assassino”, que inclui O aprendiz de assassino, A fúria do assassino e O assassino do rei, bem como as duas séries de fantasia relacionadas, – “Liveship Traders” – , que consiste de Ship of Magic, The Mad Ship e Ship of Destiny, e – “Tawny Man” –, composta de Fool’s Errand, Golden Fool e Fool’s Fate. Também é autora da série “Soldier Son”, que inclui Shaman’s Crossing, Forest Mage e Renegade’s Magic. Mais recentemente, como Robin Hobb, ela deu início a uma nova série, “Rain Wilds Chronicles”, integrada por Dragon Keeper, Dragon Haven, City of Dragons e Blood of Dragons. Como Megan Lindholm, seu livro mais recente foi escrito em “parceria” com Robin Hobb, a antologia The Inheritance and Other Stories. No conto que se segue, ela nos mostra que mesmo o cachorro mais velho, com focinho grisalho e passos lentos, ainda pode ser capaz de morder.
.
.
VIZINHOS
Linda Mason estava à solta novamente. Eram três horas da manhã e o sono passara. Sarah fora até a cozinha de robe, colocara a chaleira para esquentar e vasculhara os armários até encontrar uma caixa de saquinhos de chá Celestial Seasonings Tension Tamer. Colocara uma xícara no pires e o sachê em seu bule de “chá para um”, e ouviu alguém no escuro do lado de fora gritando seu nome. – Sarah! Sarah Wilkins! Melhor se apressar. É hora de ir. Seu coração deu um pulo no peito e se manteve acelerado. Sarah não reconheceu a voz aguda, mas o tom vitoriosamente desafiador era alarmante. Ela não queria olhar pela janela. Por um momento, tinha 8 anos de novo. Não olhe embaixo da cama, não abra o armário de noite. Se você não olhar, não haverá nada lá. O bicho-papão de Schrödinger. Ela se forçou para lembrar que estava muito mais perto de 68 que de 8, e abriu a cortina. Grandes ondas de névoa cobriam a rua, antecipando o outono no noroeste do Pacífico. Seus olhos se acostumaram e ela viu Linda, a velha louca, de pé na rua do lado de fora da cerca de ferro que contornava seu quintal. Vestia agasalho rosa e chinelos de ficar em casa. Tinha um taco de beisebol de alumínio nas mãos e uma mochila da Hello Kitty nas costas. Sarah estava certa de que os dois últimos itens na verdade pertenciam à neta de Linda. O filho de Linda e sua esposa moravam com a velha. Sarah sentia pena da nora, forçada a assumir o papel de cuidadora da excêntrica mãe de Robbie. Alzheimer era o que a maioria das pessoas falava sobre Linda, mas “maluca” parecia adequado também. Sarah conhecia Linda havia 22 anos. Elas tinham se revezado para levar os filhos para partidas de futebol na ACM. Tomaram café e conversaram, trocaram geleias feitas em casa e abobrinhas, alimentaram os animais de estimação uma da outra durante viagens de férias, se cumprimentaram no supermercado Safeway e fofocaram sobre os outros vizinhos. Não eram melhores amigas, mas mães amigas da vizinhança, de um modo anos 1950. Linda era uma das poucas antigas moradoras a permanecer no bairro. Os outros pais que ela conhecera tinham partido muito antes, mudado para apartamentos, migrado como aves ou sido colocados em casas de repouso pelos filhos. As casas ficavam vazias e o novo rebanho de famílias jovens chegava. Além de Linda, dos velhos amigos restavam apenas Maureen e o marido, Hugh, que moravam do outro lado do quarteirão, mas eles passavam a maioria dos dias em Seattle para os tratamentos de Hugh. – Sarah! Melhor se apressar! – gritou Linda novamente. Duas casas abaixo, a luz de um quarto de acendeu. A chaleira começou a assoviar. Sarah a tirou do fogo, pegou o casaco no gancho e abriu a porta dos fundos. A maldita luz da varanda não funcionava; a lâmpada queimara na semana anterior, mas dava trabalho demais pegar a escadinha e trocar. Ela desceu os degraus com cuidado e foi até a cerca, esperando que Sarge não tivesse feito suas coisas onde ela iria pisar. – Linda, você está bem? O que está acontecendo? Tentou falar com ela como uma velha amiga, mas a verdade era que Linda a assustava. Às vezes era Linda, mas de repente era capaz de dizer algo absurdo e estranho, ou maldoso. E fazia coisas ainda mais estranhas. Alguns dias antes, no começo da manhã, ela fugira para seu jardim da frente, colhera todas as maçãs maduras na árvore do vizinho e as jogara na rua. “Melhor do que deixar que caiam e apodreçam como ano passado!”, gritou quando a flagraram. “Vocês vão desperdiçar. Alimentem o futuro, eu digo! Deem para quem irá apreciar!” Quando a esposa de Robbie a segurou pelo braço e tentou arrastá-la de volta para casa, Linda reagiu dando-lhe um tapa. A netinha de Linda e sua amiguinha viram tudo. A criança começara a chorar, mas Sarah não sabia se era por angústia, medo ou simples humilhação, pois metade do bairro saíra para ver o drama, incluindo a vizinha que era dona da macieira. A mulher estava furiosa e dizia a quem quisesse ouvir que era hora de “colocar aquela velha maluca num asilo”. Ela morava no bairro havia dois anos, mas Sarah sequer sabia seu nome. – Eu estou na minha casa! – respondera Linda aos berros. – Por que você está morando na casa de Marilyn? Por que tem mais direito às maçãs do pé dela do que eu? Eu a ajudei a plantar a maldita árvore! – Você não acha que a colocaríamos em um asilo se pudéssemos pagar? Acha que gosto de viver assim? – berrara a esposa de Robbie de volta para a vizinha. Depois caíra em lágrimas e conseguira rebocar Linda de volta para dentro. E naquele momento Linda estava do lado de fora na noite enevoada, encarando Sarah com perturbados olhos arregalados. O vento agitava seu cabelo branco, e folhas passavam por ela na calçada. Vestia agasalho de corrida rosa e chinelos de ficar em casa. Tinha algo na cabeça, algo preso a um gorro de lã. Avançou na direção da cerca e bateu nela com o taco de beisebol, fazendo-a vibrar. – Não amasse minha cerca! – gritou Sarah, depois acrescentando: – Fique aí mesmo, Linda. Fique aí mesmo, vou conseguir ajuda. – Você precisa de ajuda, não eu! – respondera Linda aos gritos. Rira loucamente, e citara: – “Criancinha, vem brincar, a lua brilha forte como dia!” Só que não! Então é isso o que vou levar comigo. O luar! – Linda, está frio aí. Venha para dentro e me conte aqui. O telefone. Deveria estar ligando para a emergência agora. Alex lhe dissera para comprar um celular, mas ela não podia ter mais uma conta mensal. Não podia nem substituir seu velho telefone fixo com o toque falhado. – Vamos tomar uma xícara de chá e conversar. Como nos velhos tempos, quando as crianças eram pequenas. Ela de repente se lembrou claramente daquilo. Ela, Maureen e Linda sentadas juntas, esperando que as crianças voltassem para casa de um jogo de futebol. Conversando e rindo. Depois, as crianças cresceram e seguiram caminhos diferentes. Havia anos que não tomavam um café juntas. – Não, Sarah. Você vem comigo! Magia é melhor que loucura. E o tempo é a única diferença entre magia e loucura. Fique aqui e você é louca. Venha comigo e você é magia. Veja! Ela fez algo, a mão mexendo no peito. Então, ela se acendeu. – Energia solar! Essa é a minha passagem para o futuro! Pelos minúsculos LEDs, Sarah reconheceu o que Linda estava vestindo. Ela se enrolara em luzes de Natal. Os pequenos painéis solares que as carregavam estavam presos em seu gorro. – Linda, venha para dentro e me mostre. Estou congelando aqui fora! Elas estavam berrando. Por que o bairro continuava escuro? Alguém deveria estar ficando aborrecido com sua conversa em voz alta, o cachorro de alguém deveria estar latindo. – O tempo e a maré não esperam por homem algum, Sarah! Estou partindo para buscar minha sorte. Última chance! Você virá comigo? Dentro de casa, Sarah teve de procurar o número do telefone de Linda na caderneta e quando ligou ninguém atendeu. Após dez toques, caiu na secretária. Ela desligou, levou o telefone até a janela e discou novamente. Linda não estava do lado de fora. As janelas em sua casa estavam escuras. O que fazer? Ir bater na porta? Talvez Robbie já tivesse saído, encontrado a mãe e a levado para dentro. Chamar a polícia? Ela voltou ao quintal levando o fone em uma das mãos. – Linda? – chamou na escuridão enevoada. – Linda, onde você está? Ninguém respondeu. A neblina ficara mais densa, e o bairro estava escuro. Mesmo o poste da esquina, o maldito que lançava luz pela janela do seu quarto, escolhera aquele momento para ficar às escuras. Discou mais uma vez o número de Linda e escutou tocar. Entrando em casa, Sarah ligou para o próprio filho. Ouviu o sonolento “Quê?” em resposta no sétimo toque. Contou sua história. Ele não ficou impressionado. – Ah, mãe. Não é da nossa conta. Volte para cama. Aposto que ela voltou para casa e deve estar dormindo agora. Como eu gostaria de estar. – Mas e se ela saiu vagando pela noite? Você sabe que ela não está bem da cabeça. – Não é a única – murmurou Alex, e depois falou: – Olhe, mãe. São quatro horas da manhã. Volte para cama. Eu passo aí no caminho para o trabalho, e nós batemos na porta dela juntos. Tenho certeza de que está bem. Volte para cama. Então, ela voltou. E se agitou e se preocupou. Acordou às sete horas com a chave dele na fechadura. Graças aos céus! Ela o fizera se desviar de sua viagem para Seattle para passar ali, e nem estava de pé e pronta para ir bater na porta de Linda. – Eu desço num minuto! – gritou para baixo, e começou a se vestir. Demorou mais do que deveria, especialmente para dar laço nos calçados. – O chão continua a se afastar um pouco todo dia – murmurou. Era sua velha brincadeira com Russ. Mas Russ não estava mais lá para concordar com ela. Sarge dormia no umbral. Ela o empurrou carinhosamente e o beagle desceu atrás dela. Abriu a porta da cozinha e sentiu uma onda de calor. – O que você está fazendo? – cobrou. Alex estava com a porta dos fundos aberta, e a agitava. – O que é esse cheiro? Ele olhou feio para ela.
– O fogão estava ligado quando entrei! Tem uma sorte desgraçada de não ter incendiado a casa. Por que seu detector de fumaça não disparou? – A pilha deve ter esgotado – mentiu ela. Ela se cansara dele disparando a cada bagel que a torradeira velha queimava, e soltara a pilha na unidade da cozinha. – Devo ter deixado o fogão aceso noite passada quando Linda estava do lado de fora. Então, não foi a noite toda, apenas três ou quatro horas. O tampo do fogão ainda emitia calor, e a cerâmica branca ao redor do queimador danificado se tornara um marrom pastoso. Ela tentou tocar e recolheu a mão rapidamente. – Um pouco de sapólio deve limpar isso. Nenhum problema, felizmente. – Nenhum problema? Apenas três ou quatro horas? Que merda, mãe, não percebe a sorte que teve? Para seu desalento, ele desdobrou a escadinha e subiu para verificar o detector de fumaça. Tirou a tampa e a bateria caiu no chão. – Bem! Aí está o problema – observou ela. – Deve ter se soltado aí dentro. Ele a encarou. – Deve ter – concordou com uma voz contida. Antes que ela conseguisse se curvar, ele desceu da escada, a pegou e recolocou no lugar. Fechou a tampa. – Quer café? – perguntou ela, se virando para o jarro. Deixara a cafeteira preparada com antecedência, como fazia havia vinte anos, para não ter de encher toda manhã. Apenas apertar o botão, se sentar à mesa e ler o jornal de pijama até a primeira xícara estar pronta, quando Russ desceria. Ou não, como era o caso agora. – Não. Obrigado. Eu preciso ir. Mamãe, você precisa ter mais cuidado. – Eu tenho cuidado. Isso não teria acontecido se a noite não tivesse sido tão esquisita. – E você não teria esquecido seu cartão no caixa eletrônico semana passada se o caminhão dos bombeiros não tivesse passado, impedindo-a de ouvir a máquina apitando enquanto você ia embora. Mas e quanto a trancar as chaves dentro do carro? E deixar o sprinkler no gramado funcionando a noite inteira? – Isso foi há meses! – Exatamente! Esses “esquecimentos” começaram há meses! Só está piorando. E ficando mais caro. Tivemos aquela conta d’água. Depois, o chaveiro. Felizmente o caixa eletrônico engoliu seu cartão e o banco telefonou. Você nem se deu conta de que estava sem ele! E agora teremos um pequeno aumento na conta de luz este mês. Você precisa ir ao médico e dar uma olhada nisso. Talvez haja um comprimido para isso. – Eu vou dar um jeito nisso – falou. Sua voz estava ficando seca. Ela odiava ouvir sermões como aquele. – Melhor você pegar a estrada antes que o trânsito piore. Quer um café em sua caneca para viagem? Ele a encarou por um tempo, querendo continuar a discussão até chegar a algum tipo de solução imaginária. Ainda bem que Alex não tinha tempo. – É, vou pegar minha caneca. Parece que está tudo bem na casa dos Mason. Lá está Robbie indo trabalhar. Não acho que ele faria isso se a mãe dele estivesse desaparecida. Não havia nada que ela pudesse responder que não a fizesse soar ainda mais maluca. Quando ele voltou com a caneca, ela esticou a mão na direção da cafeteira e viu que estava cheia de água marrom clara. Ela se esquecera de colocar pó no filtro. Não demorou a pegar o café instantâneo. – Parei de fazer um bule cheio só para mim – contou, colocando café instantâneo na caneca de viagem do filho e a água quente por cima. Ele a pegou com um suspiro. Assim que ele partiu, colocou o pó de café na máquina e se sentou com o jornal. Marcava onze horas da manhã quando a polícia chegou, e uma hora da tarde quando um policial bateu à sua porta. Ela se sentiu péssima enquanto ele anotava com atenção seu relato do que tinha visto às quatro horas da manhã. – E não chamou a polícia? – perguntou o jovem, seus olhos castanhos cheios de pena por sua idiotice. – Liguei duas vezes para a casa dela, depois para meu filho. Mas não a vi do lado de fora, então pensei que tinha voltado para casa. Ele fechou seu caderno com um suspiro e o enfiou no bolso. – Bem, ela não foi – comentou ele em tom pesado. – Pobre senhora, do lado de fora de chinelos e luzes de Natal. Bem, duvido que tenha ido longe. Vamos encontrá-la. – Ela vestia um agasalho de ginástica rosa. E chinelos de ficar em casa – disse, revirando suas lembranças. – E estava com um taco de beisebol. E uma mochila da Hello Kitty. Como se estivesse indo para algum lugar. Ele pegou o caderno, suspirou mais uma vez e acrescentou os detalhes. – Gostaria que tivesse ligado – comentou enquanto guardava o caderno mais uma vez. – Eu também. Mas meu filho disse que ela devia ter voltado para casa, e na minha idade é muito fácil duvidar da própria avaliação das coisas. – Imagino que sim. Boa tarde, senhora. Era quinta-feira. Ela foi ver Richard na casa de repouso. Como sempre, levou um dos álbuns de fotografias de quando eram crianças. Deixou o carro no estacionamento, atravessou a rua até o café e comprou um latte de baunilha grande. Entrou com ele na Caring Manor, que tinha permanente cheiro de urina, passou pelo “saguão” com o sofá floral e arranjos de flores de plástico empoeiradas, e desceu o corredor, passando pelas cadeiras de rodas habitadas estacionadas junto às paredes. As costas curvadas e os pescoços enrugados dos residentes lembravam tartarugas espiando para fora de suas cascas. Alguns dos pacientes acenaram para ela quando passava, mas a maioria apenas a encarava. Olhos azuis desbotados até cor de linho, olhos castanhos sangrando pigmento para o branco, olhos sem mais ninguém atrás deles. Havia rostos conhecidos, residentes que estavam ali havia pelo menos os três anos que Richard chegara. Ela lembrava seus nomes, mas eles não lembravam mais. Estavam caídos em suas cadeiras, esperando ninguém, as rodas debochando de quem não tinha mais para onde ir. Havia uma nova enfermeira no posto. De novo. No início, Sarah tentara cumprimentar todas as enfermeiras e todos os ajudantes pelo nome sempre que visitava Richard. Isso se revelou uma missão desalentadora. As enfermeiras eram trocadas com demasiada frequência, e os ajudantes de mais baixo escalão que cuidavam dos residentes tinham uma rotatividade ainda maior, assim como os idiomas que falavam. Alguns eram simpáticos, conversavam com Richard enquanto levavam embora as bandejas do almoço ou trocavam as roupas de cama. Mas outros lembravam a ela carcereiros, os olhos vazios e ressentidos com seus deveres e com os pacientes. Ela lhes dava pequenos presentes, potes de geleia, abobrinhas de seu quintal, tomates frescos e pimentões. Esperava que essas pequenas propinas passassem a mensagem, mesmo que eles não entendessem todas as suas palavras enquanto lhes agradecia por cuidar tão bem de seu irmão. Às vezes, quando estava acordada à noite, rezava para que fossem pacientes e gentis, ou pelo menos não vingativos. Fossem gentis quando limpassem fezes das pernas dele, gentis quando o segurassem para a chuveirada. Gentis enquanto faziam uma tarefa que detestavam por um salário que não os sustentava. Ela ficava pensando se alguém poderia ser tão gentil assim. Richard não estava lá naquela quinta-feira. Ela se sentou com o homem que vivia no corpo dele, mostrando fotografias de quando foram acampar, de seus primeiros dias na escola e dos pais. Ele anuiu, sorriu e disse que eram fotos adoráveis. Isso era o pior, que mesmo em sua confusão sua cortesia gentil resistisse. Ela ficou a hora que sempre passava com ele, sem se importar quão opressivo fosse. Quando ninguém estava olhando, ela lhe dava goles de café. Richard não podia mais tomar líquidos. Tudo o que comia era em forma de purê, e todas as suas bebidas, até mesmo a água, eram engrossadas para que não aspirasse. Esse era um dos problemas do Alzheimer. Os músculos da deglutição no fundo da garganta enfraqueciam, ou as pessoas se esqueciam de como usálos. Então, as ordens médicas para Richard eram que não podia mais tomar café. Ela desafiava isso. Ele perdera seus livros, seu cachimbo e não podia mais andar por conta própria. Seu café era o último pequeno prazer na vida, e ela se aferrara a isso em benefício dele. Toda semana levava um copo para ele e o ajudava a beber às escondidas enquanto ainda estava quente. Ele adorava isso. O café sempre garantia um sorriso da criatura que tinha sido seu grande irmão forte. Com o copo vazio, foi para casa.
* * *
O desaparecimento de Linda estava no Tacoma News Tribune do dia seguinte. Sarah leu a matéria. Haviam usado uma foto antiga, uma mulher calma e competente num paletó com ombreiras. Ficou pensando se teria sido por não terem fotos de uma velha desgrenhada. Mas ninguém tinha fotos do sorriso que ela dera ao virar sua mangueira de jardim para os gêmeos Thompson de 10 anos, que tinham atacado seu gato com pistolas de água. A foto não teria registrado seus risos abafados quando ligara para Sarah às duas horas da manhã e ambas foram esvaziar os pneus de todos os carros estacionados diante da casa de Marty Sobin quando sua filha adolescente dera uma festa com álcool enquanto Marty estava fora da cidade. “Agora eles não podem dirigir bêbados”, sussurrara Linda com satisfação. A Linda dos velhos tempos. Sarah se lembrava de como ela ficara de pé na rua, pés fincados, dentes trincados, e forçara Marsha Bates a parar cantando pneus com o Jeep do pai. “Você está dirigindo rápido demais para este bairro. Da próxima vez, vou contar aos seus pais e à polícia.” Aquela Linda recebera a vizinhança para churrascos de Quatro de Julho, e sua casa era onde os adolescentes se reuniam espontaneamente. Suas luzes de Natal sempre eram as primeiras a acender e as últimas a se apagar, e suas abóboras de Halloween eram as maiores da rua. Aquela Linda sabia como ligar um gerador para as luzes externas do piquenique de futebol. Depois da grande tempestade de neve de doze anos antes, ela pegara sua motosserra e cortara a árvore, que caíra sobre a rua, quando a cidade disse que não poderia mandar ninguém antes de três dias. Russ abrira a janela e gritara: “Fique de olho, pessoal! Norueguesa maluca com uma motosserra!”, e todos deram gargalhadas orgulhosas. Muito orgulhosos de poder cuidar de si mesmos. Mas aquela Linda e a velha excêntrica que ela tinha se tornado desapareceram. A família dela espalhou cartazes. A polícia levou um cão farejador. Robbie apareceu para visitar e perguntar o que tinha visto naquela noite. Foi difícil olhar nos olhos dele e explicar por que não tinha chamado a polícia. – Eu liguei para sua casa. Duas vezes. Deixei tocar vinte vezes. – Nós desligamos a campainha de noite – confessou ele, desanimado. Ele fora um menino pesado quando goleiro do time de futebol, e se tornara gordo. Um homem gordo e cansado com uma mãe problemática que se transformara em uma mãe desaparecida. Tinha de ser algum alívio, Sarah pensou, e depois mordeu o lábio para não dizer em voz alta. À medida que os dias se passavam, as noites ficavam mais frias e chuvosas. Nenhum registro de que ela tivesse sido vista. Ela não poderia ir longe a pé. Poderia? Será que alguém a pegara? O que alguém iria querer com uma velha demente com um taco de beisebol? Será que estava morta nas amoreiras de algum terreno abandonado? Pegando carona na Highway 99? Com fome e frio em algum lugar? Quando Sarah acordava de madrugada às duas, três horas ou 4h15, a culpa a mantinha acordada até o amanhecer. Era horrível estar acordada antes de o jornal ser entregue e antes de ser hora de preparar o café. Ela se sentava à mesa e olhava para a lua cheia do equinócio. “Meninos e meninas, saiam para brincar”, sussurrava para si mesma. Seus horários estranhos incomodavam Sarge. O beagle gordo se sentava ao lado da cadeira e a observava com seus olhos tristes de cão. Ele sentia falta de Russ. Tinha sido o cachorro dele, e sua morte tornara o animal melancólico desde então. Ela sentia que ele estava apenas esperando para morrer. Bem, ela também não estava? Não. Claro que não! Ela tinha sua vida, sua programação. Tinha seu jornal matutino e o jardim para cuidar, suas compras na mercearia e seus programas de TV à noite. Tinha Alex e Sandy, mesmo com esta morando do outro lado das montanhas. Tinha sua casa, seu jardim, seu cachorro e outras coisas importantes. Às 4h15 de uma manhã escura de setembro era difícil lembrar quais eram essas coisas importantes. A chuva constante dera lugar ao silêncio e a uma névoa que se elevava. Ela estava fazendo o sudoku do jornal do dia anterior, um tipo de quebra-cabeça idiota, todo lógica e nenhuma inteligência, quando Sarge se virou para olhar na direção da porta dos fundos em silêncio. Ela desligou as luzes da cozinha e olhou pela janela dos fundos. A rua estava muito escura! Nenhuma luz residencial acesa em lugar algum. Ela apertou o interruptor da luz da varanda; a lâmpada ainda estava queimada. Havia alguém lá fora; ela ouviu vozes. Colocou as mãos ao redor do rosto e colou no vidro. Continuava sem ver. Abriu a porta dos fundos e saiu em silêncio. Cinco homens jovens, três lado a lado e dois atrás. Não reconheceu nenhum deles, mas não pareciam ser do seu bairro. Os adolescentes andavam curvados com casacos pesados e botas de trabalho de cadarços desamarrados, se movendo como uma matilha de cães, os olhos indo de um lado para o outro. Carregavam mochilas. O líder apontou pra uma velha picape estacionada do outro lado da rua. Foram na direção dela, olharam na caçamba e testaram as portas trancadas. Um espiou pela janela lateral e disse algo. Outro pegou um galho de árvore caído e bateu no para-brisa. O galho podre se despedaçou e caiu na rua cheia de lixo. Os outros riram dele e avançaram. Mas o jovem vândalo era teimoso. Enquanto subia na caçamba da picape para tentar chutar o vidro de trás, Hello Kitty olhou para ela. Seu coração deu um pulo no peito. Uma coincidência, disse a si mesma. Era apenas um jovem usando uma mochila da Hello Kitty para ser irônico. Não significava nada, não mais que isso. Sim. Significava. Quase ficou grata pela luz da varanda estar queimada e sua cozinha, escura. Ela se acalmou em silêncio do lado de dentro, fechou a porta quase totalmente, pegou o telefone e discou 911, se encolhendo com os bipes. Será que ele ouviria? Tocou três vezes antes que o operador atendesse. – Polícia ou bombeiros? – perguntou a mulher. – Polícia. Uns homens estão tentando arrombar uma picape estacionada na frente da minha casa. E um deles usa uma mochila rosa igual à que minha amiga usava na noite... – Calma, senhora. Nome e endereço. Ela respondeu rapidamente. – Consegue descrever os homens? – Está escuro e a luz da varanda está queimada. Estou sozinha aqui. Não quero que saibam que os estou observando e telefonando. – Quantos homens? Pode dar uma descrição geral? – A polícia está vindo? – cobrou ela, de repente com raiva de todas aquelas perguntas inúteis. – Sim. Já enviei alguém. Agora. Por favor, me diga o máximo que puder sobre os homens. Ao inferno com isso. Ela foi até a porta e olhou para fora. Ele tinha ido embora. Ela olhou para os dois lados da rua, mas a noite estava tomada pela neblina. – Eles foram embora. – É a dona do veículo que eles estavam tentando arrombar? – Não. Mas a coisa importante é que um deles usava uma mochila rosa, igual à que minha amiga usava quando desapareceu.
– Entendo – disse ela, e Sarah teve certeza de que a funcionária não entendia nada. – Senhora, como essa não é uma emergência imediata, ainda vamos enviar um policial, mas talvez ele não chegue imediatamente. – Certo. Ela desligou. Idiota. Foi até a porta e olhou de novo para fora. Na gaveta da cômoda no andar de cima, debaixo das roupas de Russ, havia uma pistola, uma pequena .22 preta que ela não disparava havia anos. Em vez disso, pegou sua comprida lanterna pesada na gaveta de baixo e saiu para o quintal. Sarge a seguiu. Ela caminhou em silêncio até a cerca, ligou a lanterna e apontou o facho de luz para a velha picape. O facho mal chegou a ela. De um lado e do outro da rua, bloqueada pela neblina, a luz não lhe revelou nada. Entrou em casa com Sarge, trancou a porta, mas deixou a luz da cozinha acesa e voltou para a cama. Não dormiu. O policial só chegou dez e meia. Ela entendeu. Tacoma era uma cidadezinha violenta; eles primeiro tinham de atender aos casos em que as pessoas realmente corriam perigo. Ele apareceu, colheu seu relato e lhe deu um número de registro. A picape tinha sumido. Não, ela não sabia a quem pertencia. Cinco jovens, entre a metade e o final da adolescência, vestindo roupas pesadas, e um com uma mochila rosa. Ela se recusou a adivinhar alturas ou raça. Estava escuro. – Mas a senhora viu a mochila claramente? Vira. E estava certa de que era idêntica àquela que Linda carregava. O policial franziu o cenho e anotou. Apoiou-se na mesa da sua cozinha para olhar pela janela. Franziu o cenho. – A senhora disse que ele bateu na janela com um galho caído, que se partiu em pedaços? – Isso mesmo. Mas não acho que a janela tenha quebrado. – Senhora, não há galhos de árvore lá fora. Nem pedaços na rua – constatou, e olhou para ela com pena. – Seria possível que a senhora tivesse sonhado isso? Por estar preocupada com sua amiga? Ela quis cuspir nele. – Ali está a lanterna que usei. Ainda no balcão onde a deixei. As sobrancelhas dele se juntaram. – Mas a senhora disse que estava escuro e não conseguia ver nada. – Eu saí com a lanterna depois de ligar para a polícia. Para ver se conseguia descobrir para onde tinham ido. – Entendo. Bem, obrigado por ligar para nós. Depois que ele partiu, ela saiu sozinha. Atravessou a rua até onde a picape estivera estacionada. Nenhum pedaço de galho no chão. Nem mesmo um punhado de folhas no bueiro. Seu novo vizinho tinha um fetiche por gramados. Era tão bem cuidado quanto grama artificial num campo de futebol, os bueiros limpos como se tivessem sido aspirados. Ela estranhou aquilo. Na noite passada, havia folhas secas sussurrando ao sopro do vento, e havia, sim, um grande e pesado galho podre na rua. Mas as macieiras jovens no pomar dele eram pouco maiores que o cabo de um ancinho. Pequenas demais para produzir um galho como aquele, quanto mais para perder um. Sarah voltou para casa. Chorou durante algum tempo, depois preparou uma xícara de chá e ficou aliviada por não ter ligado para Alex por causa daquilo. Fez uma relação das coisas que podia fazer: lavar roupa, podar as rosas murchas, colher os últimos tomates verdes e fazer chutney com eles. Subiu e tirou um cochilo. Depois de três semanas, o bairro parou de fofocar sobre Linda. Seu rosto ainda sorria num cartaz de “desaparecida” no mercado Safeway, perto do balcão da farmácia. Sarah encontrou Maureen lá, pegando comprimidos para Hugh, e foram ao Starbucks, pensando no que teria acontecido com Linda. Conversaram sobre os velhos tempos, jogos de futebol, aluguel de smokings para festas de formatura e de quando Linda fez ligação direta na picape de Hugh depois que ninguém conseguiu encontrar as chaves e Alex precisava levar pontos imediatamente. Elas riram muito e choraram um pouco, depois retornaram ao presente. Maureen deu as notícias. Hugh estava “levando”, e Maureen contou isso como se ser capaz de sentar na cama fosse tudo o que ele queria fazer. Maureen a convidou a colher as maçãs da macieira do quintal. – Não tenho tempo de fazer nada com elas, e há mais do que podemos comer. Odeio vê-las caindo e apodrecendo. Foi bom tomar um café e conversar, e isso fez com que Sarah se desse conta de quanto tempo se passara desde que convivera com alguém. Pensou nisso na manhã seguinte enquanto verificava a correspondência na mesa. Uma conta de luz, um panfleto sobre plano de cuidados de longo prazo, um boletim da associação de aposentados e duas brochuras de casas de repouso. Sentou com a conta de um lado e empilhou o resto para reciclar com o jornal matutino. Encontrou uma cesta e estava saindo para limpar a macieira de Maureen quando Alex entrou. Ele se sentou à sua mesa e ela esquentou no micro-ondas o resto do café da manhã para eles. – Tive que vir a Tacoma para um seminário, então pensei em dar uma passada aqui. E queria lembrar você de que a segunda metade do imposto de propriedade vence no final do mês. Já pagou? – Não. Mas está na escrivaninha. Isso pelo menos era verdade. Estava na escrivaninha. Em algum lugar. Ela o viu olhando para as brochuras de casas de repouso. – Propaganda – contou ela. – Desde que seu pai nos registrou na associação de aposentados nós recebemos essas coisas. – Mesmo? – ele reagiu, parecendo envergonhado. – Achei que tinha sido porque pedi que mandassem. Achei que talvez você desse uma olhada e depois pudéssemos conversar. – Sobre o quê? Reciclagem? A brincadeira saiu mais dura do que ela pretendera. Alex ficou com o olhar teimoso. Ele nunca iria comer brócolis – nunca. E teria aquela conversa de qualquer jeito. Ela colocou uma colher de açúcar no café e mexeu, resignada por uma desagradável meia hora que estava por vir. – Mãe, temos de encarar os fatos – disse, entrelaçando as mãos na beirada da mesa. – Os impostos estão vencendo; a segunda metade é de setecentas pratas. O seguro da casa vence em novembro. E os preços do óleo estão subindo, com as contas da calefação no inverno por chegar, e este lugar não é eficiente no uso de energia. Ele falava como se ela fosse um pouco idiota, além de velha. – Eu coloco um suéter e levo o pequeno aquecedor de um aposento para outro. Como fiz ano passado. Aquecimento por zonas. A forma mais eficiente de esquentar uma casa. Ela bebericou o café. Ele abriu as mãos na mesa. – Tudo bem. Até começarmos a ter mofo na casa devido à umidade no porão sem aquecimento. Mãe, esta é uma casa de três quartos e dois banheiros, e você usa talvez quatro cômodos dela. A única banheira fica em cima, e a lavanderia é no porão. São muitas escadas para você todos os dias. A caixa de disjuntores deveria ter sido trocada há anos. A geladeira precisa de isolamento novo. O carpete da sala de estar está gasto nas beiradas. Ela sabia de tudo aquilo. Tentou fazer piada. – E a lâmpada na varanda dos fundos está queimada. Não se esqueça disso! Ele apertou os olhos para ela. – Quando a faia perder as folhas teremos de passar o ancinho no gramado e tirar do escoamento de água da chuva. E no próximo ano a casa precisará de pintura. Ela apertou os lábios. Verdade. Tudo verdade. – Vou lidar com isso quando chegar o momento – respondeu ela, em vez de mandar que ele cuidasse da própria vida. Ele colocou os cotovelos na mesa e apoiou a cabeça nas mãos. Não ousou encará-la enquanto falava. – Mãe, isso significa apenas que irá me ligar quando não conseguir colocar as folhas na lata de reciclagem do gramado. Ou quando as calhas estiverem transbordando pela lateral da casa. Você não consegue manter este lugar sozinha. Eu quero ajudá-la. Mas sempre parece que você me liga quando estou preparando uma apresentação ou juntando minhas próprias folhas. Ela encarou Alex, magoada. – Eu... Não venha, se está tão ocupado! Ninguém morre de calhas entupidas e folhas no gramado. Ela se sentiu envergonhada, depois furiosa. Como ele ousava posar de mártir das suas necessidades? Como ousava se comportar como se ela fosse um fardo? Ela perguntara se tinha tempo para ajudá-la, não exigira que fosse lá. – Você é minha mãe – falou ele, como se isso criasse algum dever irrevogável que ninguém pudesse apagar. – O que as pessoas vão pensar se deixar a casa desmoronar ao seu redor? Além do mais, a casa é seu maior patrimônio. Precisa ser conservada. Ou, se não pudermos conservá-la, precisamos liquidá-la e mudar você para algum lugar onde possa se arranjar. Um apartamento para idosos. Ou casa de repouso. – Alex, quero que você saiba que este é meu LAR, não meu “maior...” Alex ergueu a mão, peremptório. – Mãe. Deixe-me terminar. Não tenho muito tempo hoje. Então, me deixe dizer apenas isto. Não estou falando de uma casa de repouso. Sei que você odeia visitar o tio Richard. Estou falando de um lugar seu com muitos serviços, sem o trabalho de ter uma casa. Esse aqui? – E colocou o dedo em uma brochura retirada da pilha de propaganda. – Fica em Olympia. Junto à água. Tem seu próprio cais, e barcos que os moradores podem usar. Você pode ter amigos e ir pescar. Ela deu um sorriso duro e tentou brincar com aquilo. – Eu não consigo juntar folhas com um ancinho, mas você acha que eu posso remar um bote? – Você não tem de ir pescar – retrucou ele. Ela o aborrecera, destruindo seu sonho de ver a mãe num pequeno terrário de frente para a água. – Só estou dizendo que você poderia, que este lugar tem todo tipo de serviços. Uma piscina. Uma academia de ginástica. Transporte diário para a mercearia. Você poderia aproveitar a vida de novo. Ele estava muito determinado. – O banheiro tem essa instalação de segurança. Se você cair, puxa uma corda e isso a coloca em contato com ajuda, 24 horas por dia. Há um refeitório caso não queira cozinhar naquele dia. Há um centro de atividades com sala de cinema. Eles programam noites de jogos, churrascos e... – Parece um acampamento de verão para velhos cretinos – interrompeu. Ele ficou sem palavras por um momento. – Só quero que você saiba das possibilidades, Se não gosta deste, tudo bem. Há outros lugares que são apenas apartamentos adaptados para pessoas mais velhas. Todos os aposentos no mesmo andar, barras de apoio nos banheiros, corredores largos o bastante para andadores. Só pensei que você poderia achar algo bom. – Eu tenho algo bom. Minha própria casa. E eu não poderia pagar esses lugares. – Se você vendesse esta casa... – Neste mercado? Rá! – Ou então a alugasse. Ela olhou feio para ele. – Isso funcionaria. Uma imobiliária cuidaria disso por uma percentagem. Muita gente faz isso. Olhe. Eu não tenho tempo de discutir hoje. Não tenho tempo de discutir dia nenhum! E é disso que estamos falando. Não tenho tempo de vir correndo para cá todo dia. Eu a amo, mas você tem de tornar possível para mim cuidar de você e ainda ter minha própria vida! Tenho uma esposa e filhos; eles precisam do meu tempo tanto quanto você. Não consigo trabalhar e cuidar de duas casas. Não consigo. Ele estava com raiva, e isso mostrava quão perto estava de explodir. Ela olhou para o chão. Sarge estava debaixo da mesa. Ergueu os olhos castanhos tristes para ela. – E Sarge? – perguntou ela em voz baixa. Ele suspirou. – Mãe, ele está ficando velho. Você deveria pensar no que é melhor para ele. Naquela tarde, ela pegou a escadinha e trocou a lâmpada da varanda. Arrastou a escada de alumínio da garagem, armou, pegou a mangueira, subiu na maldita coisa e limpou as calhas na frente da garagem. Juntou com o ancinho as folhas molhadas e o lixo numa pilha sobre uma lona, levou até a beirada do canteiro de legumes e jogou lá. Compostagem. Mais fácil que lutar com uma lata de folhas. Na manhã seguinte, ela acordou às dez horas em vez das seis, toda dolorida, num dia nublado. Os ganidos de Sarge a despertaram. Ele tinha de sair. Levantar da cama foi um processo cauteloso. Vestiu seu roupão e se apoiou no corrimão para descer as escadas. Deixou Sarge sair para o quintal enevoado, encontrou o remédio para dor e apertou o botão da cafeteira. – Vou fazer isto até não conseguir mais – falou com raiva. – Não vou sair da minha casa. O jornal estava sobre o capacho da frente. Ao se levantar, ela olhou para o bairro e ficou chocada com a mudança. Quando ela e Russ se mudaram para lá, o lugar era um bairro emergente em que os gramados permaneciam verdes e aparados o verão inteiro, as casas eram pintadas com regularidade infalível e canteiros de flores eram cuidados. Naquele momento, seus olhos localizaram um bueiro afundado na esquina da velha casa dos McPherson. E mais abaixo, o salgueiro chorão, que havia sido o orgulho de Alice Carter, tinha um galho quebrado balançando, coberto de folhas mortas. O gramado dela também estava morto. E a tinta descascava no lado ensolarado da casa. Quando tudo se tornara tão desgastado? Sua respiração acelerou. Não era assim que ela se lembrava da casa. Era disso que Alex estava falando? Será que seus esquecimentos se tornaram tão abrangentes? Apertou o jornal sobre o peito e recuou para dentro de casa. Sarge estava arranhando a porta dos fundos. Ela a abriu para o beagle, depois ficou olhando para além da cerca. A picape estava lá de novo. Vermelha e enferrujada, um pneu arriado, algas nas janelas. Os pedaços do galho de árvore quebrado ainda cobriam a rua, e o vento empurrara as folhas caídas sobre eles. Lentamente, com o coração batendo forte, ela ergueu os olhos para as macieiras retorcidas que tinham substituído sua lembrança de mudas do tamanho de cabos de vassoura. – Não pode ser – disse ao cachorro. Desceu os degraus rigidamente, Sarge nos seus calcanhares. Passou pelas rosas até chegar à cerca, olhando através da neblina esfiapada. Nada mudou. Quanto mais ela estudava seu bairro familiar, mais estranho ele se tornava. Janelas quebradas. Chaminés com tijolos faltando, gramados mortos, um abrigo de carro caído. Um ruído ritmado a fez virar a cabeça. O homem descia a rua a passos largos, botas esmagando as folhas molhadas, a mochila rosa alta em seus ombros. Carregava o taco de beisebol de alumínio em diagonal na frente do corpo, mão direita agarrando, mão esquerda embalando. Sarge deu um rosnado baixo. Sarah não conseguiu produzir um som. Ele sequer olhou para os dois. Quando chegou à picape, ajustou os pés, mediu a distância e então acertou a janela do motorista. O vidro resistiu. Ele bateu novamente, e mais uma vez, até que se transformasse em uma teia de aranha, uma cortina de vidro de segurança esfacelando. Então, inverteu o taco e raspou o vidro. Enfiou a mão, destrancou a porta e a abriu. – Onde está Linda? O que você fez com ela?
O homem ficou paralisado no ato de vasculhar o interior da cabine. Ele se empertigou e virou, taco a postos. Os joelhos de Sarah fraquejaram, e ela agarrou a barra de cima da cerca para não despencar. O homem que olhou feio para ela estava perto dos 20 anos. As botas de trabalho com laços desfeitos pareciam grandes demais, assim como a pesada jaqueta sintética que vestia. Os cabelos estavam desgrenhados, e sua barba irregular era um acidente. Ele estudou a rua nas duas direções. Os olhos passaram por cima dela e do cachorro, que rosnava sem parar enquanto procurava testemunhas. Ela viu o peito dele subir e descer; seus músculos estavam contraídos em prontidão. Ela o encarou, esperando o confronto. “Deveria ter apanhado o telefone. Deveria ter discado 911 ainda dentro de casa. Velha idiota. Eles vão me encontrar morta no quintal e nunca saberão o que aconteceu.” Mas ele não avançou. Os ombros baixaram lentamente. Ela permaneceu de pé onde estava, mas ele nem olhou. Não valia sua atenção. Ele se virou de novo para a cabine da picape e se curvou para dentro. – Sarge. Venha, menino, venha. Ela se afastou em silêncio da cerca. O cachorro permaneceu onde estava, rabo erguido, pernas rígidas, com a atenção fixa no invasor na sua rua. O sol devia ter mergulhado atrás de nuvens mais pesadas. O dia ficou cinza e a neblina mais densa, até que ela mal conseguia ver a cerca. – Sarge! – chamou ela com mais urgência. Em reação à preocupação na voz, o rosnado dele ficou mais grave. Na rua, o ladrão se afastou da picape, segurando um saco de lona com ferramentas. Vasculhou dentro e uma barra caiu. Um som metálico soou na calçada e Sarge de repente uivou. Os pelos em suas costas se eriçaram. Na rua, o homem girou e olhou para o cachorro. Juntou as sobrancelhas, se inclinando para a frente e olhando. O beagle gordo uivou mais uma vez e, quando o homem ergueu o taco, Sarge avançou, rosnando. A cerca não o deteve. Sarah olhou enquanto Sarge desaparecia na neblina e depois reaparecia na rua atrás da cerca, uivando. O homem se curvou, pegou um pedaço do galho podre e o jogou em Sarge. Ela achou que ele não acertara, mas o beagle ganiu e se esquivou. – Deixe meu cachorro em paz! – gritou para ele. – Eu chamei a polícia! Estão a caminho! Ele manteve os olhos no cachorro. Sarge uivou de novo, proclamando seu território. O ladrão arrancou uma chave de parafusos da bolsa de ferramentas e arremessou. Dessa vez, ela ouviu um baque quando o homem acertou o cachorro, e os ganidos de Sarge enquanto fugia eram os de um cachorro ferido. – Sarge! Sarge, volte! Seu desgraçado! Deixe meu cachorro em paz! Pois o homem o estava perseguindo, taco erguido. Sarah correu para dentro de casa, pegou o telefone, discou e correu para fora de novo. Chamando, chamando... – Sarge! – gritou ela, se atrapalhou com a tranca no portão e correu para uma rua vazia. Vazia.
Sem picape. Sem galhos caídos ou folhas mortas. Uma névoa sob as árvores decorativas no final da rua sumiu quando o sol passou pelas nuvens acima. Ela estava de pé num bairro urbano bem cuidado de gramados aparados e calçadas varridas. Nada de para-brisa quebrado, nada de ladrãozinho esfarrapado. Apertou apressadamente o botão de desligar no telefone. Nenhum beagle. – Sarge! – chamou, sua voz vacilando. Mas ele desaparecera, assim como desaparecera tudo mais que tinha vislumbrado. O telefone em sua mão tocou. Sua voz vacilou enquanto garantia na ligação a 911 que estava tudo bem, que deixara o telefone cair e apertara botões acidentalmente ao pegá-lo. Não, ninguém precisava ir lá, ela estava bem. Ela se sentou à mesa da cozinha, olhou para a rua e chorou durante duas horas. Chorou por sua cabeça que estava se perdendo, chorou por Sarge ter ido embora, chorou por uma vida que saía de seu controle. Chorou por estar sozinha num mundo estranho. Tirou da lata de reciclagem os panfletos das moradias especiais e chorou quando leu sobre a ala de Alzheimer com alarme nas portas. – Tudo menos isso, Deus – suplicou a Ele, e então pensou nos comprimidos para dormir que o médico oferecera na época da morte de Russ. Nunca usara a receita. Procurou por ela na bolsa. Não estava lá. Subiu, abriu a gaveta e olhou para a pistola. Lembrou-se de Russ mostrando como a trava funcionava e como tinha de colocar munição no carregador. Eles tinham atirado em latas num poço de cascalho. Anos antes. Mas a arma ainda estava lá, e quando ela soltou a trava o carregador caiu em sua mão. Havia uma caixa plástica âmbar de munição ao lado, surpreendentemente pesada. Cinquenta cartuchos. Olhou para aquilo, pensou em Russ e em como ele estava longe. Depois colocou de volta, pegou sua cesta e foi colher as maçãs de Maureen. Ela e Hugh não estavam em casa, deviam estar no hospital de Seattle. Sarah encheu a cesta com maçãs pesadas e a arrastou para casa, planejando o que iria fazer. Potes de molho de maçã, potes de anéis de maçã temperados e transformados em vermelho pelo corante de canela Red Hots. Jarros vazios aguardavam, alinhados, junto à pequena churrasqueira esmaltada e à velha panela de pressão. Ficou de pé na cozinha olhando para aquilo, depois para as maçãs no balcão. Colocar em potes para quem? Quem podia confiar em alguma coisa que colocasse em potes? Ela deveria pegar tudo e doar. Fechou o armário. Encerrado. Potes de doces estavam tão acabados quanto dança, bordado ou sexo. Não fazia sentido lamentar. Lavou e lustrou meia dúzia de maçãs, colocou-as em uma bela cesta com uma dália tardia e foi visitar Richard. Deixou a cesta na recepção com um bilhete de agradecimento para as enfermeiras e entrou com o copo de café. Deu goles a ele e lhe contou tudo, sobre a neblina, o desaparecimento de Linda e o homem com a mochila. Ele observou seu rosto e escutou a história que não poderia contar a mais ninguém. Uma sombra de vida voltou ao rosto dele quando lhe deu o melhor conselho de um irmão. – Atire no filho da puta – disse, balançando a cabeça, depois tossiu e acrescentou: – Pobre cachorro velho. Mas pelo menos foi rápido, né? Melhor que uma morte lenta.
Ele fez um gesto ao redor dela com uma mão ossuda com manchas de envelhecimento. – Melhor que isto, Sal. Melhor que isto. Naquele dia, ela ficou uma hora a mais com ele. Depois pegou o ônibus para casa e foi diretamente para a cama. Quando acordou às duas horas da manhã, limpou o chão e o banheiro e assou no forno uma maçã solitária. O cheiro de canela, maçã e açúcar caramelado a fez chorar. Ela a comeu entre lágrimas. Aquele foi o dia em que se desligou totalmente do tempo. Sem Sarge pedindo que acordasse às seis e o alimentasse, que diferença fazia a que horas levantasse, quando cozinhasse ou recolhesse as folhas? O jornal sempre esperaria por ela. A Safeway nunca fechava, e ela nunca sabia quais dias lhe revelariam uma agradável tarde de outono num bairro silencioso e quais revelariam um mundo nublado de casas dilapidadas e carros enferrujados. Por que não fazer compras uma da manhã ou ler as notícias do dia só às oito da noite comendo um jantar de micro-ondas? O tempo não tinha mais importância. Decidiu que esse era o segredo. Ficou pensando se isso acontecia a todas as pessoas velhas assim que se davam conta de que o tempo não se aplicava mais a elas. Começou a deliberadamente sair para o jardim nos dias nublados para olhar de propósito para aquele outro mundo desalentador. Três dias após Sarge ter desaparecido, ela viu uma garotinha esfarrapada sacudindo os galhos mais baixos de uma macieira grande demais, esperando que as últimas maçãs bichadas caíssem sobre ela. Nada caiu, mas ela continuou tentando. Sarah entrou na casa e saiu com a cesta de maçãs da macieira de Maureen. Ficou de pé no quintal e as jogou por sobre a cerca, uma de cada vez. Ela jogou de baixo para cima, do modo como costumava lançar bolas para os filhos. As primeiras três sumiram na neblina. Depois, à medida que a neblina ficava mais densa, uma caiu no gramado marrom cheio de pragas junto à criança. A garota se lançou sobre a maçã, acreditando que a tinha derrubado. Sarah lançou mais meia dúzia de maçãs vermelhas gordas, limpas, suculentas e maduras. A cada maçã, o encanto da menina aumentava. Ela se sentou embaixo da árvore, encolheu as pernas junto ao peito para se aquecer e comeu maçã após maçã, faminta. Sarah mordeu uma maçã ela mesma e a comeu enquanto olhava. Quando terminou, se tornou um jogo para Sarah estar pronta para lançar uma maçã quando a criança sacudia a árvore. Quando a garota não conseguiu mais comer, enfiou-as em sua mochila puída. Quando todas as maçãs foram lançadas, Sarah voltou para casa, preparou um chá e pensou sobre aquilo até a neblina dissipar e ela ver as primeiras frutas que tinha jogado caídas na rua. Ela riu, escovou os cabelos, calçou sapatos e foi às compras. Por três dias a neblina veio, mas nenhuma criança apareceu. Sarah não desanimou. Quando a neblina voltou, ela estava pronta. Tinha colocado as meias rosa num plástico, fechado com fita adesiva. Não havia como dizer quanto tempo ficariam caídas ali antes que a criança voltasse. Havia dois sué-teres, rosa com lantejoulas, meias de lã quentes e uma mochila azul resistente cheia de barras de granola. Ela lançou um depois do outro por cima da cerca, dentro da neblina. Ela os ouviu cair, mas não conseguiu ver. Quando a neblina dissipou e apenas um par de meias permanecia na rua, ela comemorou. Esperara ver a menininha voltar e encontrar os presentes. Não viu, mas da vez seguinte em que a neblina rodopiou, viu que os tesouros tinham sumido. – Ela os encontrou – parabenizou a si mesma, e planejou mais surpresas. Coisas simples. Um saco de damascos secos. Biscoitos de aveia com chocolate em um tubo de plástico duro. Por sobre a cerca e dentro da neblina. Aqueles ela viu a garota encontrar, e a expressão no rosto dela ao abrir a caixa foi inestimável. As noites ficaram mais frias, com ameaça de neve. Estaria frio naquele outro mundo? Onde a criança dormia? Ela se metia nos arbustos ou se escondia em uma das casas abandonadas? Sarah encontrou suas agulhas de tricô e pegou um estoque de linhas. Tinha se esquecido daquelas cores, roxo urze, marrom bolota e verde musgo. Eles se enrolaram nas agulhas e deslizaram por seus dedos rígidos com as lembranças de dias em que conseguia subir pelas encostas no outono. Levou o tricô com ela numa bolsa quando visitou Richard, e mesmo que ele não a reconhecesse, lembrava de como a mãe deles nunca assistia à televisão sem seu tricô. Eles riram disso e também choraram um pouco. A tosse dele estava pior. Ela lhe deu goles de café para limpar a garganta, e quando ele perguntou, com voz de criança, se poderia ficar com o gorro de lã verde ela deixou. Sarah embalou luvas de lã multicoloridas, um gorro combinando e um par de botas de borracha rosa. Por impulso, adicionou um dicionário ilustrado. Colocou as coisas em bolsas ziplock e, quando a neblina rodopiou nos ventos invernais, sorriu enquanto os arremessava por sobre a cerca, para dentro do nevoeiro. No começo de novembro, ela lançou um saco de doces cremosos laranja e preto de Halloween, no formato de abóboras, gatos e espigas de milho que sobraram de uma rodada muito decepcionante de gostosuras ou travessuras à sua porta. Quando visitou Richard, ele estava usando seu gorro verde na cama. Contou sobre a garotinha, sobre as maçãs e as luvas. Ele deu sua risada velha, depois tossiu até ficar vermelho. A enfermeira apareceu e, quando olhou desconfiada para o café, Sarah sorriu e tomou o resto dele. – Você é uma senhora gentil – falou Richard quando ela saía. – Você lembra minha irmã.
* * *
Várias noites depois, no meio da noite, uma tempestade a despertou, e ela desceu as escadas até a cozinha. Do lado de fora, o vento corria pela chaminé e esfregava os galhos da árvore sobre o telhado. Isso iria derrubar o resto das folhas; teria de recolher no dia seguinte. Em meio ao vento, ouviu a voz de uma criança, talvez da menina. Abriu a porta dos fundos e saiu para a varanda. Acima, os galhos da faia balançavam e as folhas caíam, mas na rua tinha uma neblina densa. Atravessou o gramado e segurou o alto da cerca. Forçou olhos e ouvidos, tentando penetrar a neblina e a escuridão. Quase ficou tempo demais. A cerca sumiu de suas mãos. Recuou enquanto ela se dissolvia em neblina. A luz da varanda parecia distante. A neblina corria entre ela e seus degraus. Ouviu atrás de si passos pesados na rua. De homens, não de criança. Caminhou em meio à neblina como se fosse água profunda. Ofegava quando subiu os degraus cambaleando. Os passos de homens eram claros atrás. Passando pela porta e entrando em casa, apagou a luz da varanda e ficou paralisada nos degraus, olhando por entre névoa e escuridão. Estavam com a garota. Um a segurava pelo pulso com firmeza. Ela apontava e falava com eles. Tocou no gorro e voltou a falar. O homem que segurava seu pulso balançou a cabeça. A garota apontou de novo, com insistência, para a macieira do outro lado da rua. O homem foi na direção dela. Sarah observou enquanto vasculhavam a árvore e abaixo dela, e depois o canteiro e o jardim do outro lado da rua. Um deles abriu a porta tombada e desapareceu dentro da casa. Saiu pouco tempo depois balançando a cabeça. Quando olharam na sua direção, ela ficou pensando no que teriam visto. O que era sua casa no mundo e no tempo deles? Um lugar deserto com janelas quebradas como a casa do outro lado da rua? Uma casca queimada como a dos Mason no meio do quarteirão? O que aconteceria se a neblina engolisse sua casa? O homem com a mochila de Linda e o boné de beisebol olhou fixamente para sua varanda. Um redemoinho de névoa a seguiu quando ela se retirou para a cozinha, sem ousar fechar a porta para não produzir ruído. Sabia que o ruído conseguia passar do seu mundo para o deles. Tirou uma cadeira do caminho, odiando o som raspado no chão, e se agachou para espiar por cima do parapeito da janela. Procurou o interruptor e apagou as luzes. Conseguia ver mais claramente. O Homem da Mochila olhava para sua janela enquanto atravessava a rua, batendo levemente o taco sobre a palma da mão. A neblina condensara em seu quintal. Ela o viu entrar no quintal sem ser incomodado por uma cerca de metal que não existia no mundo dele. Ficou de pé sobre suas rosas logo abaixo da janela da cozinha e olhou para ela, os olhos pálidos fixos em algo além. Estudou a janela, depois jogou a cabeça para trás e gritou: – Sarah! A palavra chegou a ela, fraca, mas clara. Ele recuou, procurando-a na janela. Ela permaneceu imóvel. “Não consegue me ver. Não estou no mundo dele. Mesmo que saiba meu nome, não consegue me ver.” Ele olhou para as janelas de cima de sua casa e balançou a cabeça, frustrado. – Sarah! – gritou novamente. – Você está aí. Você me ouve! Saia! Atrás deles, seus colegas se juntaram num coro noturno. – Sarah! Saia, Sarah! Os outros se adiantaram para ficar ao lado do Homem da Mochila. Eles sabiam seu nome. Antes de matar Linda, eles tinham descoberto seu nome. E o que mais? A garotinha se juntou ao grito, sua voz um eco fraco. Estava junto ao homem que segurava sua mão. Não seu sequestrador. Seu protetor. Sarah escorregou da cadeira, se encolhendo no chão, o coração tão acelerado que mal conseguia respirar. Lágrimas brotaram e ela se encolheu debaixo da mesa, tremendo, com medo de que a qualquer momento a janela se partisse com o taco ou ele entrasse pela porta aberta. Que idiota era! Claro que a criança fazia parte do grupo. Teriam um território de caça, como qualquer grupo de primatas. Os presentes que jogara buscando apenas ser gentil com uma criança faminta os atraíram para lá. O homem lá fora não era idiota. Tinha visto Sarge sair do nada, o cachorro que caçara para ter carne. Sabia que havia algo misterioso em sua casa. Será que Linda lhe contara algo antes que a matassem e pegassem suas coisas? O quanto havia contado? Será que havia sido seguida, será que os tinha levado até lá quando tentou voltar para este mundo? Perguntas demais. Ela tremia de terror. Trincou os dentes para que não batessem, tentou não respirar para que não a ouvissem ofegando. Fechou os olhos com força e tentou ficar imóvel. Ouviu as dobradiças da porta rangendo. O vento que se intensificava empurrando ar frio para dentro da cozinha ou o homem com o taco de beisebol? Encolheu-se mais, colocou as mãos sobre a cabeça e fechou os olhos. “Não se mexa”, disse a si mesma. “Fique imóvel até o perigo ter passado.”
* * *
– Mãe, que inferno! Você está bem? Você caiu? Por que não me ligou? Alex, pálido, de joelhos junto à mesa da cozinha, olhava para ela. – Consegue se mover? Consegue falar? Foi um derrame? Ela piscou e tentou compreender o que ele estava vendo. Alex vestia um casaco. Flocos de neve nos ombros. Um gorro de lã enterrado sobre as orelhas. Ar frio entrando pela porta dos fundos aberta. – Acho que adormeci aqui – disse ela, e seus olhos se arregalaram enquanto tentava consertar dizendo: – Acho que adormeci lendo na mesa. Devo ter deslizado para cá sem acordar. – Lendo o quê? Ela tentou esconder o quanto doeu rolar até ficar de quatro e engatinhar debaixo da mesa. Teve de segurar no assento da cadeira para se levantar, depois sentar. A mesa da cozinha estava vazia. – Bem, que estranho! – exclamou ela, depois se forçou a sorrir. – E o que o traz aqui hoje? – Seus vizinhos. Maureen telefonou. Estava indo para a emergência com Hugh. Não podia parar, mas viu que sua porta dos fundos estava aberta, e as luzes, apagadas. Não viu pegadas na neve e ficou preocupada com você. Então, eu vim. – Como Hugh está? – Não perguntei. Em vez disso, vim para cá. Ela olhou para o piso da cozinha. Um delta de neve derretendo mostrava até onde a tempestade penetrara no aposento. Ela dormira encolhida no chão com a porta aberta durante uma tempestade de neve. Passou rangendo por ele na direção da cafeteira sem dizer uma palavra. Ao ligá-la, viu a crosta queimada de café seco no fundo da jarra. Moveu-se metodicamente enquanto lavava a jarra, media a água e colocava pó em um filtro novo. Apertou o botão. A luz não acendeu. – Acho que você a queimou – falou Alex pesadamente. Passou por ela para tirar da tomada. Não a fitou enquanto tirava a jarra, jogava o pó fora e derramava a água na pia. – Acho que deve ter deixado ligada por muito tempo para evaporar tanto café. Ele pegou a pequena lata de lixo debaixo a pia. Estava cheia. Tentou sem sucesso enfiar a cafeteira nela, depois a deixou tombada no alto. Ficou calado enquanto colocava água em duas canecas e as punha no microondas. Ela pegou o esfregão e empurrou a neve pela porta, depois enxugou a água que sobrou. Doía se curvar; estava muito enrijecida, mas não ousou gemer. Alex fez café instantâneo para os dois, depois se sentou à mesa. Fez um gesto na direção da cadeira em frente, e ela relutantemente se juntou a ele. – Você sabe quem eu sou? – perguntou a ela. Ela o encarou. – Você é meu filho, Alex. Tem 42 anos e seu aniversário foi mês passado. Sua esposa tem dois filhos. Não estou perdendo a cabeça. Ele abriu a boca, depois a fechou. – Em que ano estamos? – Dois mil e onze. E Barack Obama é o presidente. E eu não gosto dele nem do Tea Party. Você agora vai me dar um punhado de moedas e me perguntar de quanto mais eu preciso para completar um dólar? Porque eu vi o mesmo questionário idiota sobre “Seu pai idoso tem Alzheimer?” no jornal do domingo passado. – Não era um questionário. Era uma série de testes simples para verificar acuidade mental. Mãe, talvez possa contar o troco e dizer quem sou, mas não consegue explicar por que estava dormindo no chão debaixo da mesa com a porta dos fundos aberta. Ou por que deixou o jarro de café ferver e secar – falou, e de repente olhou ao redor. – Onde está Sarge? Ela contou a verdade. – Fugiu. Não o vejo há dias. O silêncio foi longo. Ele olhou para o chão, culpado. – Deveria ter me chamado. Teria feito isso para você. – Não mandei sacrificá-lo! Saiu do quintal e correu quando um estranho gritou com ele – explicou ela, desviando os olhos dele. – Ele só tinha 5 anos. Isso não é muito velho para um cachorro. – Bobbie me telefonou há duas noites. Disse que voltou para casa tarde do trabalho e a viu levando compras para casa meia-noite. – E? – Por que você estava fazendo compras no meio da noite? – Porque fiquei sem chocolate quente. E queria para ver um programa mais tarde, então corri até a loja para comprar, e como já estava lá achei que poderia pegar mais algumas coisas de que precisava. Uma mentira em cima da outra. Não iria lhe dizer que o relógio não tinha mais importância para ela. Não iria dizer que o tempo não a controlava mais. O aquecedor desarmou. Ouviu um último estalo e se deu conta de que estivera funcionando sem parar desde que tinha acordado. Provavelmente funcionara a noite inteira. Alex não acreditou nela.
– Mãe, você não pode mais morar sozinha. Está fazendo coisas malucas. E as coisas malucas estão se tornando perigosas. Ela olhou para a caneca. Havia algo de definitivo na voz dele. Algo mais ameaçador que um estranho com um taco de beisebol. – Não quero arrastá-la até o médico e conseguir um laudo de que não é mais competente. Gostaria que mantivéssemos a dignidade e evitássemos isso – falou, depois parou e engoliu, e ela de repente soube que ele estava prestes a chorar. Virou a cabeça e olhou pela janela. Um dia de inverno comum, céu cinza, ruas molhadas. Alex fungou e pigarreou. – Vou ligar para Sandy e ver se ela pode tirar alguns dias para ficar aqui com você. Vamos ter de descobrir como fazer. Gostaria que tivesse me deixado começar com isso há meses. Ele esfregou as bochechas e ela ouviu o ruído áspero de barba por fazer sob as palmas das mãos. Ele saíra de casa em pânico. O telefonema de Maureen o assustara. – Mãe, precisamos esvaziar a casa e colocá-la no mercado. Você pode ficar comigo, ou talvez Sandy possa arrumar um espaço para você. Até conseguirmos encontrar um lugar de moradia assistida para você. Um lugar. Não até conseguirmos encontrar um apartamento. Lugar. Como colocar algo numa prateleira. – Não – disse ela em voz baixa. – Sim. – Ele suspirou como se sua vida estivesse se esgotando. – Não posso ceder a você novamente, mãe. Deixei isso passar vezes demais – ele se levantou. – Quando cheguei e a vi, achei que estava morta. E o que passou pela minha cabeça foi que teria de dizer a Sandy que a deixei morrer sozinha no chão. Porque não tive força para enfrentá-la. Preciso colocá-la em um lugar seguro para deixar de me preocupar com você. – Lamento tê-lo assustado. Palavras sinceras. Ela conteve as outras palavras, aquelas que lhe diriam que cairia lutando, que nem ele nem Sandy a colocariam em um quarto de hóspedes como um porquinho-da-índia em uma caixa de vidro, nem a mandariam para um canil de idosos. Ela só escutou depois disso. Ele lhe disse que iria ligar para Sandy, que voltaria no dia seguinte ou no máximo na quinta-feira. Ela ficaria bem? Sim. Será que poderia permanecer em casa? Sim. Ele ligaria a intervalos de horas naquele dia, e de noite ligaria na hora de dormir. Então ela deveria, por favor, manter o telefone perto, porque se não atendesse ele voltaria ali. Sim. Sim para tudo que ele disse, não porque concordasse ou prometesse, mas porque “sim” era a palavra que o deixaria suficientemente seguro para ir embora. – Mas e quanto a Richard? Amanhã é quinta-feira. Sempre vou visitar Richard às quintas-feiras. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois falou. – Ele não sabe que dia você vai. Sequer sabe quem é você. Poderia nunca mais ir, e ele não sentiria sua falta. – Eu sentiria falta dele – respondeu ela, feroz. – Sempre vou quinta-feira de manhã. Irei vê-lo amanhã. Ele se levantou.
– Mãe. Ontem foi quinta-feira. Depois que Alex foi embora ela preparou um chá quente, encontrou o ibuprofeno e se sentou para pensar. Ela se lembrava dos homens de pé na rua na noite anterior, o homem da mochila do outro lado da janela, e um arrepio correu por sua coluna. Ela estava em perigo. E não havia absolutamente ninguém a quem poderia pedir conselhos sem se colocar em um perigo ainda maior. O Homem da Mochila podia matá-la com um taco de beisebol de alumínio, mas sua família estava cogitando algo muito pior. A morte pelo taco só aconteceria uma vez. Se seus filhos a colocassem em algum lugar “seguro”, ela acordaria lá dia após dia e noite após noite. Para uma mulher que se libertara do tempo isso significava uma eternidade de refeições em refeitórios e tempo gasto num quarto espartano. Sozinha. Porque logo Alex iria decidir que não importava se não a visitasse. Agora sabia disso. Ao longo dos dias seguintes, ela atendeu prontamente sempre que Alex ligou. Era animada e divertida ao telefone, fingindo empolgação com filmes que vira no guia da TV. Caminhou duas vezes até a casa de Maureen, e duas vezes ela não estava em casa. Tirou os jornais que se acumulavam junto à porta dela e desconfiou de que Hugh estava morrendo. Sarah programou os despertadores para lembrar a hora de ir para cama e permanecer lá, cabeça sobre o travesseiro, cobertores sobre o corpo, até o despertador tocar de novo para mandar que se levantasse. Não olhava pelas janelas da cozinha antes das dez horas ou depois das cinco. No dia em que um movimento rápido chamou sua atenção e ela olhou pela janela e viu a garota passar correndo com o gorro da cor de bolotas de carvalho recém-caídas, se levantou da mesa da cozinha, foi para o quarto, deitou na cama e assistiu ao The Jerry Springer Show. Ligaram da casa de repouso para avisar que Richard estava com pneumonia. Ela deu uma escapada naquele dia, pegou o ônibus e passou lá a manhã toda. Ele não a reconheceu. Tinham colocado um tubo de oxigênio sob seu nariz e o som sibilante parecia um balão de gás esvaziando sem parar. Ela tentou abafar isso falando, não conseguiu e ficou sentada segurando a mão dele. Ele olhava para a parede. Esperando. Na noite seguinte, Sandy chegou. Sarah ficou assustada quando passou pela porta da frente sem bater, mas estava feliz de vê-la. Viera de carro pelas montanhas com a amiga, uma mulher emaciada e ranzinza que fumava cigarros em sua casa e se desdobrava em desculpas por “se esquecer” de que não podia. Sandy levara comida chinesa da Safeway, e comeram à mesa de Sarah na embalagem de isopor. Elas conversaram sobre o divórcio da amiga “Daquele Desgraçado” e do futuro divórcio de Sandy com “Aquele Idiota”. Sarah não sabia que havia um divórcio no futuro de Sandy. Quando perguntou gentilmente por quê, Sandy engasgou de repente, disse que era complicado demais para explicar e fugiu da sala com a amiga nos calcanhares. Sarah arrumou a cozinha com indiferença e esperou que a filha descesse. Quando nenhuma das duas apareceu, acabou indo para a cama. Esse foi o primeiro dia. Na manhã seguinte, Sandy e a amiga se levantaram e começaram a limpar os quartos que foram de Sandy e do irmão quando adolescentes. Sarah sentiu uma mistura de alívio e pena enquanto as via esvaziando armários e gavetas das “lembranças preciosas” que Sarah e Russ passaram anos evitando jogar fora. – Reduzindo a carga – anunciou Sandy enquanto jogavam fora roupas velhas, equipamento esportivo, livros de leitura obrigatória, velhas revistas e fichários. Um depois do outro, elas carregaram os sacos de lixo pretos abarrotados escada abaixo e os colocaram na varanda dos fundos. – Hora de simplificar! – ria a amiga de Sandy sempre que saía com outro saco. Elas comeram sanduíches no almoço, depois levaram pizza e cerveja para o jantar. Depois do jantar, voltaram ao trabalho. A amiga de Sandy tinha uma risada que era como o zurro de um burro. Sarah fugiu da fumaça do cigarro dela indo para o quintal no crepúsculo. A noite estava chuvosa, mas quando ficava sob a faia pouca água chegava até ela. Olhou para a rua. Vazia. Vazia e sem neblina. Um bairro calmo de gramados aparados, casas bem cuidadas e carros reluzentes. Sandy saiu com outro saco de lixo cheio. Sarah deu um sorriso triste para a filha. – Melhor amarrar, querida. A chuva vai acabar com as roupas. – O lixeiro não vai ligar, mãe. – O lixeiro? Não vai doar? Sandy deu um sorriso sofrido. – As lojas de segunda-mão ficaram muito frescas. Eles não vão querer muitas dessas coisas, e não tenho tempo de selecionar. Se levar todos esses sacos até lá irão recusar metade deles, e terei de jogar no lixo de qualquer forma. Então, vou economizar a viagem jogando no lixo de uma vez. Sarah estava tomando fôlego para protestar, mas Sandy já tinha se virado e entrado para pegar mais. Ela balançou a cabeça. No dia seguinte, ela mesma iria separar e depois ligar para uma das instituições de caridade para que pegassem. Não podia permitir que todas aquelas roupas úteis e aqueles livros fossem para o lixo. Quando a amiga pousou outro saco, uma emenda rasgou e apareceu uma camisa que Sarah reconheceu. Sandy estava atrás da amiga com outro saco. – Espere um minuto! Esta camisa é do seu pai, uma das boas Pendleton dele. Isso estava no seu quarto? – perguntou Sarah, quase divertida com a ideia de que uma camisa que Sandy devia ter pegado “emprestada” tantos anos antes ainda estivesse no quarto dela. Mas enquanto foi sorrindo na direção do saco, viu outra xadrez familiar atrás. – O que é isto? – cobrou, puxando a manga da camisa de Russ. – Ah, mãe – disse Sandy, tendo sido flagrada, mas não se arrependendo. – Começamos no armário de papai. Mas relaxe. São apenas roupas de homem, nada que você possa usar. E tudo isso tem de ir. – Tem de ir? Do que você está falando? Sandy suspirou novamente. Largou o saco que estava carregando e explicou com cuidado: – A casa tem de ser esvaziada para que possa ser mostrada por um corretor. Garanto que não há nada nesses sacos que você possa levar. Ela balançou a cabeça para a expressão chocada no rosto da mãe e acrescentou com uma voz mais gentil. – Deixe pra lá, mãe. Não há mais razão para se aferrar às roupas dele. Não é papai. São apenas as merdas velhas dele. – Merda? As “merdas” dele? Não, Sandy, não são as “merdas” dele. São as roupas dele, as roupas e os objetos de um homem que eu amava. Faça o que quiser com suas coisas antigas. Mas estas são minhas, e ninguém irá jogá-las fora. Quando chegar o momento de me separar delas eu saberei. E então elas irão para algum lugar onde possam fazer algum bem a alguém. Não para o lixo. Sandy apertou os olhos com força e balançou a cabeça. – Não podemos adiar mais isto, mãe. Você sabe que foi por isso que eu vim. Só tenho este fim de semana para limpar a coisa toda. Sei que é duro, mas você tem de nos deixar fazer isto. Não temos tempo para suas frescuras. Sarah não conseguia respirar. Ela tinha concordado com aquilo? Quando Alex esteve lá, falando e atormentando, ela dissera, “sim, sim”, mas isso não parecera significar que concordava com isso, essa destruição de sua vida. Não. Não tão rápido, não assim. – Não. Não, Sandy – falou com firmeza como se Sandy ainda fosse uma adolescente. – Você vai levar todas as minhas coisas de volta lá para cima. Está me ouvindo? Isto acaba agora! – Seu irmão a alertou sobre isso. Agora você a aborreceu – comentou a amiga, jogando o cigarro no chão e o esmagando no degrau da varanda. Deixou a guimba lá. – Talvez você devesse ligar para ele. Ela parece realmente confusa. Sarah deu meia-volta para encarar a amiga. – Eu estou aqui de pé! – gritou. – E você e seus cigarros fedorentos podem sair da minha casa imediatamente. Eu não estou “confusa”. Estou furiosa! Sandy, você deveria se envergonhar, revirando as coisas dos outros. Você não foi educada assim. Qual é o seu problema? O rosto de Sandy ficou branco, depois escarlate. A raiva correu por ele, sendo contida pela dignidade. – Mãe, odeio ver você assim. Tenho que ser honesta. Você está perdendo a cabeça. Alex tem me dado notícias. Disse que conversou com você sobre isto, que tinham olhado os folhetos juntos e escolhido dois lugares de que tinha gostado. Não se lembra disso? – Nós conversamos. Apenas isso. Nada foi decidido! Nada. Sandy balançou a cabeça, triste. – Não foi o que Alex disse. Ele disse que você tinha concordado, mas que estava levando devagar. Mas desde o último incidente tivemos de agir rápido. Lembra como ele a encontrou? Encolhida debaixo da mesa com a porta aberta em uma tempestade de neve? A amiga balançava a cabeça, com pena. Sarah estava horrorizada. Alex contara a Sandy, e Sandy espalhara para os amigos. – Isso não é da sua conta – argumentou Sarah, com dureza. Sandy lançou as mãos para o alto e revirou os olhos. – Mesmo, mãe? Mesmo? Você acha que podemos dar as costas e dizer “Não é problema meu”? Porque não podemos. Nós a amamos. Queremos fazer o que é certo. Alex tem conversado com várias comunidades de idosos muito legais com serviços adoráveis. Ele já definiu tudo. Se usarmos seu seguro social e a pensão de papai, Alex e eu podemos juntar o suficiente para colocar você em um lugar legal até a casa ser vendida. Depois disso... – Não – respondeu Sarah secamente. Ela encarou Sandy, chocada. Quem era aquela mulher? Como podia achar que podia aparecer do nada e começar a tomar decisões sobre a vida de Sarah? – Fora daqui. Sandy lançou um olhar para a amiga, que não se movera. Estava observando as duas, a boca ligeiramente entreaberta, como um espectador de Jerry Springer. Sandy falou com ela em tom de desculpas. – É melhor você ir por ora, Heidi. Eu preciso acalmar minha mãe. Por que não pega o carro e... – Você, Sandy. Estou falando com você. Fora. DAQUI. O rosto de Sandy murchou de choque. Os olhos voltaram à vida primeiro, e por um momento pareceu ter 11 anos, e Sarah teria feito qualquer coisa para retirar o que havia dito. Depois a amiga falou com superioridade: – Eu disse que deveria ter ligado para o seu irmão. Sandy bufou. – Você estava certa. Deveríamos ter conseguido a custódia e a colocado para fora primeiro. Você estava certa. Um frio correu pelo corpo de Sarah. – Tente isso , menina. Tente! Lágrimas corriam dos olhos de Sandy. A amiga se apressou a colocar um braço protetor sobre ela. – Vamos, Sandy, vamos embora. Vamos tomar um café e ligar para o seu irmão. Mesmo depois que a porta batera e ela se adiantara para trancar, Sarah não conseguiu se acalmar. Andou de um lado para o outro. As mãos tremiam quando colocou a chaleira no fogo para um chá. Subiu a escada e olhou para o caos criado. Nos quartos das crianças, havia caixas fechadas com fita e marcadas com os nomes deles. E do outro lado do corredor, no quarto que ela e Russ partilharam um dia, havia mais caixas e sacos de lixo pela metade. Com uma pontada no coração ela reconheceu sua velha jaqueta de caminhada saindo de um. Ela a tirou lentamente e examinou. Ainda estava boa; não havia nada de errado com ela. Vestiu e fechou o zíper. Mais apertado no meio do que antes, mas ainda cabia. Ainda era dela, não deles. Seu olhar viajou lentamente dos sacos largados para caixas de papelão da FedEx cuidadosamente empilhadas. Cada uma estava etiquetada “Sandy” ou “Alex”, mas uma dizia “Heidi”. Sarah arrancou a etiqueta e a jogou na cama. A parka de esqui de Russ. Dois de seus cintos de couro pesados. O cachimbo Merschaum. Seu isqueiro Zippo de prata. Sua caixa de fumo. Ela pegou o pequeno tubo de madeira e o abriu. O aroma do tabaco Old Hickory se ergueu até ela, e lágrimas arderam em seus olhos. De repente, a raiva a incendiou. Jogou todas as caixas e todos os sacos no chão. A caixa de Alex tinha a faca de bainha dos tempos de caça de Russ. Algumas meias de lã de inverno, ainda com as etiquetas. A pequena .22 e a caixa de munição estavam em uma das caixas de Sandy, juntamente com a câmera 35mm de Russ, em sua bolsa. As lentes extras e o pequeno tripé também estavam lá. Sua calculadora Texas Instruments, a primeira que tivera, e tão cara, que ela o dera de presente de Natal. Duas gravatas e seu velho relógio Timex. Escorregou para o chão, segurando o relógio. Levou-o ao ouvido, sacudiu e escutou novamente. Silêncio. Tão parado quanto o coração dele. Levantou devagar, olhou ao redor do quarto saqueado e depois saiu, fechando a porta atrás. Limparia depois. Colocaria tudo de volta em seus lugares. Na metade da escada, ela soube que não faria isso. Não fazia sentido. Sandy estava certa pelo menos sobre isso. O que significavam todos os símbolos se não havia um homem que os acompanhasse? A chaleira apitava, e quando a pegou estava quase seca. O telefone começou a tocar. Quis ignorar. O identificador dizia que era Alex. Falou antes que ele conseguisse. – Elas estavam saqueando a casa. Colocando todas as coisas do seu pai em sacos para levar para o lixo. Se é assim que vocês vão me ajudar, assim que vão me “manter em segurança”, então prefiro estar... De repente, não conseguiu pensar no que mais dizer. Desligou o telefone. Tocou novamente, e ela deixou que tocasse, contando os toques até que caísse na secretária eletrônica. Escutou a voz de Russ atendendo e esperou o grito raivoso de Alex. Em vez disso, uma voz em tom de desculpas disse que eles odiavam deixar aquele tipo de mensagem no telefone, mas que tentaram falar com ela o dia inteiro sem sucesso. Richard morrera naquela manhã. Tinham avisado a funerária indicada em seu cartão da Purple Cross, e o corpo fora levado. Seus bens pessoais foram encaixotados e podiam ser apanhados na recepção. A voz ofereceu sinceras condolências. Ela ficou paralisada, incapaz de ir na direção do telefone. O silêncio tomou conta depois daquela ligação. Quando o aparelho tocou novamente, ela tirou o fone do gancho, abriu o compartimento traseiro e arrancou as pilhas. A base na parede continuou tocando. Ela a arrancou e desligou. O silêncio retornou, enchendo seus ouvidos com um tipo diferente de zumbido. O que fazer, o que fazer? Um de seus filhos, ou ambos, estaria voltando naquele momento. Richard estava morto. Seu corpo partira, todos os seus bens trancados numa caixa. Russ partira. Não lhe restavam aliados, ninguém que se lembrasse de quem tinha sido. As pessoas que mais a amavam eram aquelas que representavam o perigo mais grave. Estavam vindo. Estava quase sem tempo. Sem tempo. Preparou uma xícara de chá preto e a levou consigo para fora. A chuva parara e a noite estava fria. De repente, ficou contente com o casaco que vestia. Observou a neblina se formar; emaranhou nos galhos molhados da árvore, depois se soltou para tombar e fundir com o cinza que se elevava dos bueiros que pingavam. Eles se encontraram no meio, rodopiaram juntos, e a luz do poste no final da rua apagou de repente. Os sons do trânsito morreram com ela. Sarah tomou o chá preto amargo e esperou que aquele outro mundo se formasse além da neblina. Ele ganhou forma lentamente. Janelas iluminadas escureceram à medida que o cinza rolava pela rua na sua direção. As silhuetas das casas do outro lado da rua mudaram ligeiramente, telhados afundando, chaminés desmoronando à medida que mudas se transformavam em árvores rachadas e envelhecidas. A neblina se adensou, numa onda arredondada e gorda, e rolou na sua direção. Ela esperou, uma decisão de repente clara. Quando chegou à cerca, ela pegou um saco de lixo cheio de bens descartados, girou-o duas vezes e arremessou. Ele voou para dentro da neblina e reapareceu naquele outro lugar, pousando na rua suja. Outro saco. Mais um. No quarto saco, ela estava tonta de girar, mas eram pesados demais para que pudessem ser jogados de qualquer outra forma. Ela se obrigou a prosseguir, saco após saco, até seu gramado estar livre deles. Melhor que o lixo, disse a si mesma. Melhor que um vazadouro. Tonta e sem fôlego, subiu os degraus da varanda cambaleando e foi até seu quarto. Abriu a cortina da janela do quarto de cima e olhou para fora. A neblina tomara seu quintal. Ela se agitava ao redor da casa como ondas contra um cais. Bom. Abriu a janela. Jogou para fora saco após saco, caixa após caixa. Sandy e Alex não iriam encontrar nada ali. Nada para jogar fora ou arrumar. Até que restavam no piso apenas a arma e a caixa plástica de munição. Ela as pegou. Metal escuro, frio ao toque. Apertou a trava e o carregador vazio caiu em sua mão. Sentou na cama e abriu a caixa plástica de munição. Colocou uma balinha após a outra no carregador, até que estivesse cheio. O carregador se encaixou no lugar com um som semelhante ao de uma porta sendo fechada. Não. Aquele era o som da porta da frente sendo fechada. Enfiou a caixa de munição no bolso da jaqueta. Segurou a arma do modo como Russ a ensinara, apontando para baixo enquanto descia as escadas. Estavam na sala de estar. Ouviu Alex perguntar algo num tom impaciente. Sandy deu uma desculpa choramingada. – Bem, você não estava aqui! – interrompeu a amiga. – Sandy estava fazendo o melhor que podia. Sarah passou pelo corredor e chegou à cozinha. Seu coração batia tão forte que mal conseguia ouvi-los, mas sabia que estavam chegando. Abriu a porta da cozinha e saiu. A neblina roçava os degraus de baixo. Na rua, as vozes do Homem da Mochila e seus catadores eram mais claras do que antes. Tinham encontrado as coisas que jogara lá. – Botas! – gritou um homem, animado. Dois dos outros estavam discutindo por causa do velho casaco de Russ. O Homem da Mochila ia a passos largos na direção deles, talvez para reivindicá-lo para si. Um deles saiu correndo. Ele gritou alguma coisa sobre “os outros”. – Mãe? – chamou a voz de Alex vinda de dentro da casa. – Mãe? – chamou Sandy, os passos leves na cozinha. – Mãe, onde você está? Por favor. Não estávamos com raiva. Só precisamos conversar com você. A neblina subiu mais um degrau. A luz da varanda perdia força. O Homem da Mochila iria matá-la. Seus filhos iriam levá-la embora. A pequena pistola .22 estava fria e pesada em sua mão. Ela desceu da varanda. O degrau de concreto que limpara alguns dias antes estava coberto de musgo úmido sob seu pé. – Mãe? Mãe?
– Alex, deveríamos chamar a polícia – sugeriu Sandy, a voz se tornando histérica. – O telefone foi arrancado da parede! – Não vamos ser... – Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa; a voz dele ficou confusa, como um rádio com sinal ruim. A conversa preocupada deles se tornou um zumbido distante de estática. Ela cambaleou para o jardim escuro. O solo era irregular. Perambulou por entre ervas daninhas altas e molhadas. A faia ainda estava lá, e ela se escondeu em sua sombra funda. Na rua, as silhuetas dos homens reviravam objetivamente os sacos e caixas. Falavam em voz baixa animada enquanto investigavam seu achado. Outros chegavam para se juntar a eles. À distância, havia um rangido estranho, como o grito de uma ave esquisita. Sarah colou as mãos na árvore e fundiu sua sombra ao tronco, observando-os. Alguns dos recém-chegados eram mulheres em roupas grossas. A garota estava lá, e outra criança menor. Reviravam um saco, olhando para títulos de livros à luz do luar. Dois dos homens chegaram ao mesmo saco de lixo. Um deles agarrou uma camisa que saía por um rasgão e a puxou, mas o outro já tinha se apossado da manga. Uma exclamação raivosa, um puxão forte e então, enquanto um dos homens tomava posse dela, o outro pulou sobre ele. Socos foram desferidos, um homem caiu com um grito rouco, e o Homem da Mochila os xingou, brandindo o taco de alumínio enquanto corria na direção deles. Sarah se encolheu atrás da árvore e avaliou a distância até a porta da cozinha. As janelas da casa ainda brilhavam, mas a luz era azul-acinzentada, como a luz que se apaga num lampião sem combustível. Dentro da sala, seus filhos eram sombras indistintas. Não era tarde demais. Ainda podia voltar. A amiga acendeu um cigarro; ela viu a chama do fósforo, o brilho enquanto tragava. A amiga fez um gesto de mão, com pena de Sandy e Alex. Sarah deu as costas à parede. Respirou fundo; o ar era fresco e úmido, tomado por cheiro de húmus e apodrecimento. Na rua, o Homem da Mochila se colocou entre os dois homens que brigavam. Erguia a camisa no alto com uma das mãos e o taco com a outra. – Papai! – gritou a menininha, e correu na direção deles. Um dos homens estava esparramado na rua. O outro continuava de pé, ainda agarrando uma manga, curvado e desafiador. A garota correu até lá e passou os braços ao redor dele. – Soltem! – ordenou o Homem da Mochila a ambos. A tribo reduzira o tom a um sussurro enquanto eles olhavam, esperando a decisão do Homem da Mochila. O rangido distante ficou mais alto. O Homem da Mochila ergueu o taco de maneira ameaçadora. Sarah agarrou a arma com as duas mãos, saiu de trás da sombra das árvores e soltou a trava de segurança com o polegar. Ela não sabia que se lembrava de como fazer isso. Nunca fora ótima atiradora; o peito dele era o maior alvo, e não podia se permitir um disparo de aviso. – Você! – gritou enquanto vadeava pela neblina baixa e entrava naquele mundo. – Largue o taco ou eu disparo! O que fez com Linda? Você a matou? Onde ela está? O Homem da Mochila se virou na direção dela, taco erguido. Não pense. Ela apontou e disparou, terror e determinação indistinguíveis um do outro. A bala acertou em cheio o taco e seguiu em frente, atingindo a casa dos Murphy com um baque sólido. O Homem da Mochila soltou o aço e levou a mão ao peito. – Onde está Linda? – gritou com ele. Avançou, as duas mãos na arma, tentando mantê-la firme na direção do peito. Os outros tinham largado o butim e sumido. – Estou aqui! Maldição, Sarah, você demorou. Mas parece que pensou em trazer muito mais do que eu trouxe! – falou Linda, gargalhando animada. – Há meias boas aqui? O rangido era de um carrinho de mão decorado com fios de LEDs. Um halo de luz o iluminava enquanto Linda empurrava. O carrinho tinha duas bombonas de combustível, um tubo transparente e o saco de ferramentas da picape. Três outros carrinhos gastos, iluminados da mesma forma, a seguiam numa procissão solene. Enquanto a cabeça de Sarah lutava para dar contexto a tudo aquilo, ela ouviu unhas raspando a calçada e um Sarge muito mais magro correu na sua direção, se agitando e abanando o rabo de excitação. Eles não estavam mortos. Ela não estava só. Sarah se curvou e abraçou o cachorro excitado, deixando que lambesse as lágrimas em suas faces. Linda deu a ela tempo para se recuperar, enquanto gritava ordens para a tribo. – Benny, você vem aqui e pega isto. Gire isto cinquenta vezes, e a luz irá acender. Hector, você sabe como puxar gasolina. Verifique aquela picape velha. Precisamos de cada gota que conseguirmos para manter o gerador Generac funcionando. Carol, você abre o capô e resgata a bateria. Os catadores foram até ela, aceitando as bombonas e o tubo. O Homem da Mochila fez uma mesura a ela antes de aceitar a manivela das luzes. Enquanto ele se virava, Linda sorriu para ela. – Eles são bons meninos. Meio brutos, mas aprendem rápido. Você deveria ter visto a cara deles na primeira vez em que liguei o gerador. Eu sei onde procurar essas coisas. Estava no porão daquela clínica na Thirtieth. Sarah estava sem fala. Seus olhos estudaram Linda. Assim como o cachorro, ela perdera peso e ganhara vitalidade. Cambaleou até Linda nos restos esfarrapados de seus chinelos de ficar em casa. Esta deu uma gargalhada quando notou Sarah olhando para seus pés. – Sim, eu sei. Velha maluca. Pensei em tantas coisas; luzes a energia solar, uma lanterna a manivela, aspirina, cubos de açúcar e assim por diante... E então passei pela porta de chinelos. Robbie estava certo, eu realmente saí dos trilhos. Mas isso não importa tanto aqui. Não quando os trilhos foram arrancados para todos. – As botas de caminhada de Russ estão em um daqueles sacos – Sarah se ouviu dizer. – Maldição, você pensou em tudo. Equipamento para clima frio, livros... E uma pistola! Eu nunca teria esperado isso de você. Você trouxe alguma comida? Sarah balançou a cabeça, sem palavras. Linda olhou para a arma que ela ainda segurava, o cano voltado para baixo ao lado do corpo, e anuiu, compreendendo.
– Não planejava ficar muito tempo, não é? – Eu poderia voltar e pegar um pouco – disse Sarah, mas quando olhou novamente para a casa as últimas luzes do passado se apagaram. Sua casa estava em ruínas, janelas quebradas e chaminé desmoronada. Suas vinhas envolviam as ruínas de uma varanda desabada. – Não dá para voltar – confirmou Linda. Balançou a cabeça e depois esclareceu, olhando ao redor para sua tribo: – Para começar, eu não quero. Petey, pegue aquele taco. Lembre a todos que levamos tudo e dividimos na clínica. Não aqui na rua, na escuridão. Não rasguem os sacos e caixas. Recoloquem as coisas neles e carregamos para casa. – Sim, Linda – respondeu o Homem da Mochila, fazendo uma mesura. Ao redor dela na escuridão os outros se moviam para obedecer. A garota estava de pé olhando para as duas, as mãos enluvadas entrelaçadas. Linda balançou um dedo ossudo na direção dela. – Vá trabalhar, menina – depois fez um gesto para que Sarah se aproximasse. – O que você acha? Acha que Maureen estará pronta logo?
.
.
LAWRENCE BLOCK
Dis uma história assustadora sobre uma mulher perigosa com um plano perigoso em mente e a pior das intenções, que talvez devesse ter pensado um pouquinho mais em tudo... Lawrence Block , um dos reis do mistério moderno, é grão-mestre da Mystery Writers of America, ganhador de quatro Edgar Awards e seis Shamus Awards, além de ter recebido os prêmios Nero, Philip Marlowe, o Life-time Achievement da Private Eye Writers of America, e um Cartier Diamond Dagger for Life Achievement, da Crime Writers’ Association. Escreveu mais de cinquenta livros e muitos contos. Block talvez seja mais conhecido por sua longa série sobre o ex-policial e detetive particular alcoólatra Matthew Scudder, protagonista de romances como The Sins of the Fathers, In the Midst of Death, Punhalada no escuro e quinze outros, mas também é o autor de uma série sobre o assassino Keller, entre eles Hit Man, Hit List, Hit Parade e Hit and Run; a série de oito livros sobre o insone viajante Evan Tanner, incluindo The Thief Who Couldn’t Sleep e The Canceled Czech; e a série de onze obras sobre o ladrão e negociante de livros antigos Bernie Rhodenbarr, incluindo Burglars Can’t Be Choosers, O ladrão no armário e The Burglar Who Liked to Quote Kipling. Também escreveu romances isolados como Cidade pequena, Death Pulls a Double-cross e dezesseis outros, além de romances escritos sob os pseudônimos Chip Harrison, Jill Emerson e Paul Kavanagh. Seus numerosos contos foram reunidos em Sometimes They Bite, Like a Lamb to Slaughter, Some Days You Get the Bear, By the Dawn’s Early Light, The Collected Mystery Stories, Death Wish and Other Stories, Enough Rope e One Night Stands and Lost Weekends. Também editou treze coletâneas de mistério, incluindo Murder on the Run, Blood on Their Hands, Speaking of Wrath e, com Otto Penzler, The Best American Mystery Stories 2001, além de ter produzido sete livros com dicas de redação e de não ficção, entre eles Telling Lies for Fun & Profit. Seus livros mais recentes são o novo romance de Matt Scudder, A Drop of the Hard Stuff, a nova obra de Bernie Rhodenbarr, Like a Thief in the Night e, sob o pseudônimo de Jill Emerson, o romance Getting Off. Ele mora na cidade de Nova York .
.
EU SEI ESCOLHÊ-LAS
Eu certamente sei escolhê-las. Só não sei se mereço algum crédito por esta, porque é difícil alegar que fui eu que a escolhi. Ela entrou naquele bar de periferia com o roteiro todo escrito em sua mente, e a única coisa que faltava era selecionar o papel principal. Ou melhor, o papel masculino principal. No que diz respeito ao verdadeiro papel principal, bem, esse era dela. Isso nem é preciso dizer. Uma mulher como ela tinha de ser a estrela em todas as próprias produções. Havia uma jukebox, claro. Uma jukebox barulhenta. Seria legal se eu me lembrasse do que tocava quando ela cruzou o umbral, mas não estava prestando atenção – nem na música nem em quem passava pela porta. Eu tinha uma cerveja diante de mim, que surpresa, e estava olhando para ela como se a qualquer momento fosse me contar um segredo. É, tá. Tudo o que qualquer cerveja já me disse foi: “Melhor me virar, cara. Eu posso melhorar as coisas, e certamente não posso piorá-las.” Era uma jukebox que tocava country, o que você poderia ter adivinhado já no estacionamento, onde as picapes superavam as Harley em quatro ou cinco por uma. Então se não sei dizer o que estava tocando quando ela entrou, ou mesmo quando ergui os olhos da minha Pabst Blue Ribbon e dei uma boa olhada nela, posso lhe dizer que não estava tocando “I Only Have Eyes for You”. Isso não estava saindo daquela jukebox. Mas poderia. Ela era uma beleza. Seu rosto era só ângulos agudos, e uma garota que fosse apenas bonita desapareceria ficando de pé perto dela. Ela mesma não era bonita, e uma primeira olhada rápida poderia levá-lo a pensar que não era nada atraente, mas então você iria olhar novamente e aquela primeira avaliação ficaria tão longe que se esqueceria de ter pensado aquilo. Há modelos com aquele tipo de rosto. Atrizes de cinema também, e são elas que continuam a receber os bons papéis aos 40 e 50 anos, quando as garotas bonitas começam a parecer mães de subúrbio e vizinhas barulhentas. E ela só tinha olhos para mim. Grandes olhos afastados, de um castanho vivo, e juro que os senti pousando em mim antes mesmo de ter consciência da presença dela. Ergui os olhos, flagrei-a me encarando, ela me viu observando e não desviou o olhar. Imagino que foi quando me perdi. Ela era loura, com os cabelos cortados de modo a emoldurar e suavizar o rosto. Era alta, 1,75m. Magra, mas com curvas. A blusa era de seda, com uma estampa geométrica grande. Abotoada alto demais sem deixar à mostra um grande decote, mas quando se movia ela colava no corpo, para que você soubesse o que não estava sendo revelado. Pelo modo como os jeans caíam, bem, dava para ver por que as pessoas pagavam caro por calças de grife.
O lugar não estava lotado, era cedo, mas havia pessoas entre nós dois. Ela deslizou por entre os outros, que derreteram. A bartender, uma garota velha de rosto duro com tatuagens de cobra, se adiantou para receber o pedido. A loura teve de pensar. – Não sei. O que eu deveria pedir? – perguntou para mim. – Qualquer coisa que quiser. Ela colocou a mão em meu braço. Eu vestia uma camisa de mangas compridas, de modo que a pele dela e a minha nunca se tocaram, mas podiam. – Escolha uma bebida para mim – pediu. Eu estava olhando para a mão dela, apoiada ali no meu antebraço. Suas unhas eram de médias a compridas, o esmalte da cor brilhante de uma hemorragia arterial. Escolher uma bebida para ela? Aquelas que passaram mais rapidamente pela minha cabeça eram elegantes demais para o ambiente. Seria um insulto pedir para ela uma dose de destilado e uma cerveja. Tinha de ser um coquetel, mas um que a dama da cobra soubesse fazer. – A dama vai tomar uma margarita Cuervo. A mão dela estava em meu braço direito, então em vez de movê-lo usei a mão esquerda para mexer no troco que tinha deixado no balcão do bar, indicando que a margarita era por minha conta. – O mesmo para você? Ou outra Blue Ribbon? Eu balancei a cabeça. – Mas você pode me dar uma Joey C dupla para fazer companhia. – Obrigada – disse a loura, enquanto a bartender ia trabalhar. – É uma escolha perfeita, uma margarita. As bebidas chegaram, a dela em um copo com sal na borda, minha Cuervo dupla em um copo baixo enorme. Ela soltou meu braço e pegou a bebida, erguendo o copo num brinde sem palavras. Deixei minha Cuervo onde estava e devolvi o brinde com a cerveja. Ela não virou o drinque como um marinheiro, mas também não bebericou como um passarinho. Bebeu um pouco, colocou o copo no balcão e a mão no meu braço. Legal. Nada de aliança. Eu tinha notado isso, e não precisara olhar uma segunda vez para notar que tinha havido uma aliança naquele dedo e que fora tirada recentemente o bastante para revelar não apenas a faixa sem bronzeamento onde estivera, mas também a depressão criada na pele. Aquele dedo dizia muito. Que ela era casada, e que tirara a aliança de propósito antes de entrar no bar. Ei, já não disse? Eu sei escolhê-las.
Mas também não disse que ela me escolheu? E escolheu aquele bar ruim de periferia pela mesma razão. Se o meu tipo era o que ela estava procurando, aquele era o lugar para encontrá-lo. Meu tipo: bem, grande. Constituição de um middle linebacker do futebol americano, ou talvez um tight end. Um metro e oitenta e cinco, 105 quilos, ombros largos, cintura fina. Mais músculos do que um homem precisa, a não ser que ele esteja planejando erguer um carro de uma vala. O que não costumo fazer. Não sou muito bom em levantar meu próprio eu lamentável de uma vala, quanto mais um automóvel. Bem barbeado, quando me barbeio; estava um dia longe de uma lâmina quando ela entrou e colocou a mão em meu braço. Mas sem barba, sem bigode. Cabelos escuros e lisos, e ainda não tinha perdido nada deles. Mas também ainda não chegara aos 40, então quem poderia dizer que ficaria com eles? Meu tipo: um caipira grande que vive ao ar livre, mais massa que miolos, mais conhecimento das ruas que conhecimento dos livros. Alguém que talvez não notaria que você estava usando uma aliança até poucos minutos antes. Ou, se notasse, provavelmente não ligaria.
– Gostaria de dançar, senhorita? Eu o vira antes com o canto do olho, um tipo caubói, minha altura, ou três ou quatro centímetros mais, só que com menos peso. Comprido e magro, físico de jogador como wide receiver do meu tight end. E não, eu mesmo nunca joguei futebol americano. Apenas vejo quando uma TV está passando o jogo em alguma sala em que eu esteja. Nunca liguei para esporte, nem quando garoto. Eu tinha o tamanho, tinha a rapidez, e me cansei de ouvir que deveria entrar para esse time, entrar para aquele. Era um jogo. Por que perder meu tempo com um jogo? E ali estava aquele wide receiver, cantando uma mulher que tinha declarado ser minha. Ela aumentou o aperto em meu braço, e achei que gostava do modo como aquilo estava acontecendo. Dois garanhões indo para o estacionamento dos fundos, assumindo posição e então fazendo de tudo para matar um ao outro. Enquanto ela ficaria ali assistindo, o sangue cantando em suas veias, até tudo ser resolvido e ir para casa com o vencedor. Sem dúvida que ele estava pronto para brincar. Ele me avaliara havia meia hora, antes que ela entrasse em cena. Há um tipo de cara que faz isto: avaliar um salão, descobrir com quem poderia acabar brigando e como lidar com isso. Talvez eu mesmo tivesse feito isso, uma avaliação dele, imaginando quais movimentos usaria, imaginando o que funcionaria contra ele. Ou poderia me afastar daquilo. Dar as costas a ambos, sair do bar, me arrumar em outro lugar. Não era tão difícil encontrar um lugar que lhe vendesse uma dose de Cuervo e uma cerveja para acompanhar. Só que, sabe, eu nunca me afasto das coisas. Simplesmente saber que poderia não significa que possa.
– Ah, isso é muito gentil de sua parte – disse ela. – Mas estamos indo embora. Talvez outra hora. Ela estava de pé enquanto dizia isso, usando o tom de voz exato para não deixar nenhuma dúvida de que falava sério. Sem ser fria, sem menosprezá-lo, mas de modo algum calorosa o suficiente para encorajar o filho da puta. Ela lidou muito bem com aquilo.
Deixei minha cerveja onde estava, deixei o troco lá para fazer companhia. Ela segurou meu braço enquanto saíamos. Havia alguns olhares sobre nós quando partíamos, mas acho que estávamos ambos acostumados com isso.
Quando chegamos ao estacionamento, eu ainda planejava a luta. Não iria acontecer, mas minha cabeça trabalhava nela mesmo assim. Engraçado como você faz isso. Se quer ganhar esse tipo de luta, o que quer é dar o primeiro golpe. Antes que ele o pressinta. Primeiro, você lança bomba em Pearl Harbor, depois declara guerra. Deixe-o pensar até que está desistindo dela. “Ei, eu não quero brigar com você!” E quando ele achar que vá fugir, você desfere seu melhor golpe nele. O momento é certo, apanha-o de surpresa, e um golpe é tudo de que precisa. Mas não teria feito isso com o velho Lash LaRue. Ah, não, porque isso não teria resolvido o problema. Teria funcionado muito bem, colocado-o de cara no cascalho. Vaqueiro de camisa de botão de pressão, topete idiota e tudo mais. Mas isso negaria a ela a luta que estava esperando ver. Então, o que eu teria feito assim que estivéssemos do lado de fora, prontos para começar, seria estender minhas mãos num gesto de “não podemos resolver isto”, deixando a cargo dele me socar. Mas estaria pronto, embora não parecesse pronto, e me abaixaria quando ele golpeasse. Eles sempre são caçadores de cabeças, sujeitos como ele, e eu me abaixaria quase antes mesmo que desse o golpe, e mandaria um punho a meio caminho entre o umbigo e as bolas. Faria a coisa toda com golpes no corpo. Por que machucar as mãos as lançando contra um maxilar? Alto como ele era, havia muito no meio dele, e era onde o martelaria, e o primeiro golpe acabaria com sua vontade de lutar e com a força dos seus ataques, se é que ele conseguiria dar um segundo. Mas eu estava repassando o roteiro de uma luta que não iria acontecer, porque minha loura já tinha escrito seu próprio roteiro, e no final das contas não havia nele uma cena de luta. Meio que uma pena, de certo modo, porque haveria alguma satisfação em fazer aquele caubói em pedaços, mas o fígado dele iria viver para lutar mais um dia. Qualquer dano que sofresse seria causado pelas doses de destilado e as cervejas que jogava nele, não pelos meus punhos. E, você sabe, teria sido fácil demais se ela só quisesse colocar dois desordeiros para brigar por causa dela. Ela tinha em mente algo muito pior.
– Espero não ter agido errado – comentou. – Por nos tirar de lá. Mas fiquei com medo. Ela não parecera com medo. – Que você o machucasse – explicou. – Até o matasse. O carro dela era um Ford, o modelo que as locadoras costumam dar. Estava parado entre duas picapes, ambas com para-lamas amassados e muita ferrugem. Ela apertou um botão para destrancar as portas e os faróis piscaram. Banquei o cavalheiro, seguindo ao seu lado, abrindo a porta do motorista para ela. Ela hesitou, se virou pra mim, e teria sido difícil perder a deixa.
Eu a segurei e beijei. E sim, estava lá, a química, a biologia, como quer que deseje chamar. Ela retribuiu o beijo e começou a empurrar os quadris para a frente, depois se conteve e então não conseguiu mais se conter. Senti o calor através dos jeans dela e do meu, e pensei em transar ali mesmo, simplesmente jogá-la no chão e comê-la sobre o cascalho, com as duas picapes bloqueando a visão. Meter rápido, sair e levantar enquanto ela ainda tremia, e sumir dali antes que pudesse retomar seu jogo. Até logo, senhorita, porque acabamos de fazer o que íamos fazer aqui, então, seja lá o que você tenha a dizer, por que eu teria de escutar? Eu a soltei. Ela deslizou para trás do volante, contornei o carro e sentei ao lado dela. Ela ligou o carro, mas fez uma pausa antes de engrenar. – Meu nome é Claudia. Talvez fosse, talvez não. – Gary. – Eu não moro por aqui. Nem eu. Na verdade, não moro em lugar nenhum. Ou, vendo a coisa de outra forma, moro em toda parte. – Meu motel é subindo a entrada. Uns oitocentos metros. Ela esperou que eu dissesse algo. O quê? “Os lençóis são limpos? Eles têm HBO?” Não disse nada. – Vamos pegar alguma coisa para beber? Porque não tenho nada no quarto. Eu disse que tudo bem. Ela anuiu, esperou uma abertura no trânsito e pegou a estrada. Prestei atenção no cenário que passava, para conseguir voltar e pegar meu carro. Quatrocentos metros à frente, ela tirou a mão direita do volante e a colocou na minha virilha. Seus olhos nunca desviaram da estrada. Mais quatrocentos metros e a mão voltou ao volante. Tive de pensar em qual era o sentido daquilo. Confirmar que eu tinha algo para ela? Impedir que me esquecesse de por que estávamos indo para o motel? Talvez apenas tentando me mostrar que ela era uma perfeita dama.
Imagino que eu simplesmente continuo encontrando aquilo que continuo procurando. Porque, vamos reconhecer, você não vai procurar uma perfeita dona de casa num bar vagabundo com um estacionamento cheio de picapes e estradeiras. Se entra em um salão onde ouve Kitty Wells cantando como não foi Deus que fez anjos de bordel, o que você irá encontrar se não um anjo de bordel? Se você quer uma mulher de um homem só, se quer alguém que irá cuidar da casa e vai embarcar em toda aquela coisa de cerquinha branca etc., há outros lugares onde caçar. E eu não estava comparecendo a encontros de metodistas ou reuniões de pais solteiros, frequentando oficinas de poesia em um programa de educação continuada. Eu estava – outra canção – procurando o amor em todos os lugares errados, então por que culpar o destino por me enviar uma mulher como Claudia? Ou qualquer que fosse o nome dela. O motel era uma construção de um andar que não pertencia a nenhuma cadeia, razoavelmente apresentável, mas não onde uma mulher como ela ficaria se tudo o que desejasse fosse um lugar para dormir. Nesse caso, escolheria um Ramada ou um Hampton Inn, mas aquele era o motel discreto básico. Razoavelmente limpo, bem cuidado e afastado da estrada para garantir privacidade. O quarto dela era nos fundos, onde o pequeno Ford não podia ser visto da estrada. Se não fosse alugado, se fosse seu próprio carro, bem, ninguém de passagem conseguiria ver a placa. Como se isso importasse. Dentro, com a porta fechada e trancada, ela se virou para mim e pela primeira vez pareceu minimamente incerta. Como se estivesse tentando pensar no que dizer, ou esperando que eu dissesse alguma coisa. Bem, ao inferno com isso. Ela já tocara minha virilha no carro, e isso deveria ser o suficiente para quebrar o gelo. Fui até ela e a beijei, coloquei uma mão em sua bunda e a puxei para perto. Poderia ter arrancado aquele jeans dela, poderia ter rasgado aquela bela blusa de seda. Tive esse impulso. Ainda mais, eu queria causar algum dano. Amaciá-la com um punho em sua barriga, descobrir o que um direto no fígado faria com ela. Fato: eu tenho pensamentos assim. Eles chegam até mim, e quando isso acontece sempre tenho uma rápida visão do rosto de minha mãe. Só uma visão muito rápida, como um borrão verde na vista que você às vezes tem quando observa o sol se pôr sobre a água. Desaparece quase antes mesmo de ser registrada, e depois você não consegue jurar que viu. Tipo assim. Fui gentil com ela. Bem, suficientemente gentil. Ela não me escolheu na multidão porque queria palavras ternas e beijos leves. Dei a ela o que sentia que queria, mas não a levei mais longe do que desejava ir. Não foi difícil descobrir o ritmo dela, não foi difícil contê-la, e então deixar que tudo acontecesse para ela, permanecendo o tempo todo perto, arrancando o último tremor da máquina doce do seu corpo. Nada de mais, realmente. Eu fui ensinado cedo. Sabia o que fazer e como fazer.
– Eu sabia que seria bom. Estava deitado lá, olhos fechados. Não sei no que estava pensando. Às vezes, minha cabeça sai vagando, vai sozinha para algum lugar e tem os próprios pensamentos, e então um carro bate pino ou algo muda a energia do lugar, e volto para onde estava, e o que quer que estivesse pensando antes desaparece sem deixar vestígio. Deve ser assim com todo mundo, suponho. Não posso ser assim tão especial, eu e meus pensamentos particulares.
Dessa vez, foi a voz dela me trazendo de volta ao presente como um trovão. Rolei e vi que ela estava meio sentada na cama ao meu lado. Tirara o travesseiro de sob a bunda e o usava de apoio para cabeça e ombros. Tinha o ar de uma mulher fumando um cigarro, mas não era fumante, e não havia cigarros por perto. Mas era tipo assim, o cigarro depois, houvesse ou não um cigarro na imagem. – Tudo o que eu queria era vir para cá, fechar uma porta e deixar o mundo do lado de fora, e então fazer tudo no mundo sumir – falou. – Funcionou? – Como mágica. Você não gozou. – Não. – Aconteceu alguma coisa... – Eu às vezes seguro. – Ah. – Isso torna a segunda vez melhor. Mais intensa. – Entendo que sim. Mas isso não demanda um controle impressionante? Eu não tentara segurar. Tentara dar a ela uma foda da qual não se esqueceria rapidamente, apenas isso. Mas não precisava contar isso. – Nós conseguiremos ter uma segunda, não é? Você não tem de ir embora? – Vou ficar aqui a noite inteira – respondeu. – Podemos até mesmo tomar café da manhã, caso queira. – Achei que talvez tivesse de voltar para casa e seu marido. As mãos dela se moveram, e os dedos da mão direita apertaram a base do dedo anelar, se assegurando de que não havia uma aliança ali. – Não pela aliança – falei. – Pela marca da aliança. Uma depressão na pele, porque deve ter tirado pouco antes de entrar no bar. E a linha branca fina de pele não bronzeada. – Sherlock Holmes. Fez uma pausa para que eu pudesse dizer algo, mas por que ajudá-la? Esperei. – Você não é casado. – Não. – Já foi um dia? – Mesma resposta. Ela ergueu a mão, palma para fora, como se examinando a aliança. Eu diria que ela estava estudando a marca onde estivera. – Achei que iria me casar logo depois do ensino médio. No lugar onde fui criada, era o que acontecia se você fosse bonita. Ou se não fosse bonita, mas alguém a engravidasse. – Você era bonita. Ela anuiu. Por que fingir que não sabia disso? – Mas não estava grávida, e uma amiga teve uma ideia: vamos sair desta cidade, vamos para Chicago ver o que acontece. Assim, fiz as malas e partimos, e ela demorou três semanas para sentir saudade e voltar para casa. – Mas não você. – Não, gostei de Chicago. Ou achei ter gostado. Do que gostei foi da pessoa que me tornei em Chicago, não por ser Chicago, mas por não ser minha casa. – Então você ficou. – Até ir para outro lugar. Outra cidade. E tive empregos, tive namorados, passei algum tempo sozinha entre namorados, e tudo estava bem. E pensei, bem, algumas mulheres têm maridos e filhos, e outras não, e parece que vou ser uma das que não têm. Eu a deixei falar, mas não prestei muita atenção. Ela conheceu um homem que queria casar com ela, achou que era sua última chance, sabia que era um erro, mas foi em frente e casou mesmo assim. Era a sua história, mas dificilmente apenas dela. Eu já a ouvira antes. Imagino que às vezes seja verdade. Talvez fosse verdade daquela vez, pelo que eu sabia. Talvez não. Quando me cansei de escutá-la, coloquei uma mão em sua barriga e a acariciei. Sua inspiração repentina me mostrou que não estava esperando. Desci a mão, e as pernas dela se separaram, ansiosas, e coloquei minha mão lá e brinquei com os dedos. Apenas isso, apenas deitado ao lado dela, brincando com meus dedos. Ela tinha fechado os olhos, e fiquei olhando seu rosto enquanto meus dedos faziam o que faziam. – Ah! Ah! Ah!
Fiquei duro fazendo, mas não senti necessidade de fazer algo. Depois que ela gozou, permaneci deitado onde estava. Fechei os olhos, ficando mole novamente e continuei lá escutando todo o silêncio do quarto.
Meu pai foi embora quando eu ainda usava fraldas. Pelo menos, foi o que me disseram. Não me lembro dele, e não estou convencido de que ele tenha estado lá. Alguém a engravidou, e não foi o Espírito Santo, mas será que ele um dia soube? Será que ela pelo menos sabia seu sobrenome? Então, fui criado por uma mãe solteira, embora não me lembre de ter ouvido essa expressão na época. No começo, ela levava homens para casa, depois parou de fazer isso. Podia chegar em casa cheirando ao lugar onde tinha estado e do que estivera fazendo, mas chegava em casa sozinha. Depois também parou de fazer isso, e passava as noites na frente da TV. Certa noite, estávamos assistindo a um programa, esqueci qual, e ela disse: – Agora você é velho o bastante. Imagino que você se toque. Eu sabia o que ela queria dizer. O que não sabia era como reagir. – Não se envergonhe. Todo mundo faz isso, é parte do crescimento. Deixeme ver. – E, quando a confusão me deixou paralisado, ela continuou: – Tire a calça do pijama e me mostre seu pau. Eu não queria. Eu queria. Eu estava com vergonha. Eu estava excitado. Eu estava... – Está ficando maior. Logo você será um homem. Mostre como se toca. Olhe como cresce! Isso é melhor do que televisão. Em que você pensa quando toca nele?
Será que eu disse alguma coisa? Acredito que não. – Peitinhos? – perguntou, abrindo o roupão. – Você os chupou quando era um bebê. Você se lembra? Queria desviar os olhos. Queria parar de me tocar. – Vou lhe contar um segredo. Tocar o pau é legal, mas é mais legal quando outra pessoa toca por você. Está vendo? Você pode tocar meus peitinhos enquanto faço isso por você. Isso não é gostoso? Não é? Eu ejaculei por toda sua mão. Pensei que ela ia ficar zangada. Ela levou a mão ao rosto, lambeu. Sorriu para mim.
– Não sei – disse ela. Claudia, minha loura. Eu ficara imaginando, sem me preocupar muito, quão natural poderia ser aquela louridão. Ainda uma questão sem resposta, pois os cabelos em sua cabeça eram os únicos que ela tinha. Tive de pensar no que minha mãe teria achado daquilo. Raspar as pernas era sua concessão à feminilidade, e a aceitava a contragosto. A tal ponto que me obrigava a fazer isso. Saindo do banho, ainda quente da banheira, e eu espalhava espuma e manipulava o barbeador. Ela me disse que eu estaria com pelos no rosto em uns dois anos. Era melhor começar a praticar para toda uma vida fazendo barba. Perguntei a Claudia o que ela não sabia. – Eu só queria uma aventura – respondeu. – Deixar o mundo do lado de fora. Mantê-lo do outro lado daquela porta. Mas você tem um poder – ela continuou. – A mesma coisa que me atraiu para você, me fez cruzar o salão até onde você estava; isso me assusta. – Por quê? Ela fechou os olhos, escolheu as palavras com cuidado. – O que acontece aqui permanece aqui. Não é assim que funciona? – Como Las Vegas? Ela abriu os olhos, olhou nos meus. – Eu fiz esse tipo de coisa antes – contou. – Estou chocado. – Não com a frequência que você talvez esteja imaginando, mas de vez em quando. – Quando a lua é cheia? – E deixei para trás quando peguei a estrada. Como uma massagem, como um dia no spa. – De volta para o maridinho. – Como isso podia feri-lo? Ele nunca soube. E eu era uma esposa melhor para ele por ter uma válvula de escape. Levando seu tempo até chegar lá. Era como ver um lançador de beisebol passar por uma elaborada encenação. Meio interessante quando você já sabe que tipo de bola curva esperar. – Mas isto parece algo mais, não é? Ela me encarou por um tempo, como se quisesse dizer sim, mas relutasse em falar as palavras. Ah, ela era boa. – Você pensou em abandoná-lo. – Claro. Mas tenho... Ah, como dizer isso? Ele me dá uma vida muito confortável. – Isso geralmente significa dinheiro. – Os pais dele eram ricos, ele era filho único, eles partiram e agora é apenas ele. – Imagino que o Ford seja alugado. – O Ford? Ah, o carro que estou dirigindo. Sim, peguei no aeroporto. Por que você... Ah, porque eu provavelmente tenho um carro mais legal que esse. Foi o que quis dizer? – Algo assim. – Temos vários carros. Há um Lexus que dirijo, e ele me deu de presente um esportivo antigo. Um Aston Martin. – Muito gentil. – Acho que sim. De início, gostei de dirigir: a potência, a reação rápida. Agora quase nunca o tiro da garagem. É um brinquedo caro. Assim como eu. – O brinquedo dele. Ele brinca muito com você? Ela não disse nada. Coloquei a mão onde ela não tinha pelo algum. Não acariciando, apenas pousada ali. Anunciando a posse. – Se você se separasse dele... – Eu assinei uma daquelas coisas. – Um acordo pré-nupcial. – Sim. – Você poderia ficar com os brinquedos. – Talvez. – Mas a vida de luxo chegaria ao fim. Ela anuiu. – Imagino que ele seja muito mais velho que você. – Só alguns anos. Ele parece mais velho, é um daqueles homens que se comportam como se fossem mais velhos que a idade que têm, mas não é tão velho. – Como é a saúde dele? – Boa. Ele não faz exercícios, está bem acima do peso, mas tem excelentes resultados nos exames físicos anuais. – Ainda assim, qualquer um pode ter um derrame ou um ataque cardíaco. Ou um motorista bêbado passa um sinal vermelho, o acerta em cheio. – Eu sequer gosto de falar sobre esse tipo de coisa. – Porque é quase como desejar isso. – Sim. – Ainda assim, seria conveniente, não seria? – perguntei.
Não foi assim com a minha mãe. Um derrame, um ataque cardíaco, um motorista embriagado. Ali um dia, ausente no seguinte. Nem um pouco assim. Dois, três anos depois de ela ter me mostrado como era muito mais legal que outra pessoa me tocasse. Dois, três anos em que eu ia para a escola de manhã e voltava direto para casa de tarde e fechava a porta para o mundo inteiro. Ela me mostrou todas as coisas que sabia. Mais coisas sobre as quais tinha ouvido ou lido, mas nunca feito. E me contou como ser com as garotas. “Como se fosse um esporte e eu fosse sua técnica”, falou. O que dizer, como agir e como fazer com que elas fizessem coisas, ou me deixassem fazer coisas. Depois, eu ia para casa e contava a ela sobre isso. Na cama, representando, transando. Dois, três anos. E ela começou a perder peso, e perdeu cor no rosto, e eu devia ter notado, mas foi dia após dia, e nunca tive consciência disso. Então, um dia cheguei em casa e ela não estava lá, mas havia um bilhete, e logo voltaria. E uma hora depois ela entrou, vi algo no rosto dela e soube, mas não sabia o que era até que ela me contasse. Câncer de ovário, tinha espalhado pelo corpo inteiro, e não podiam fazer nada. Nada que funcionasse. Por causa de onde tinha começado ela ficou pensando se seria uma punição. Pelo que tínhamos feito. “Só que isso é babaquice e sei que é babaquice. Fui criada acreditando em Deus, mas superei isso, e nunca o criei desse modo. E mesmo se existisse um Deus, ele não agiria dessa forma. E o que há de errado com o que fizemos? Isso machucou alguém?” E um pouco depois: “Tudo o que eles podem me dar é quimioterapia, e tudo o que isso faz é doer loucamente, provocar a queda dos meus cabelos e talvez prolongar minha vida mais alguns meses. Meu menininho querido, não quero que você se lembre de uma velha ictérica morrendo aos poucos e enlouquecendo com a dor. Não quero durar tanto assim, e você tem de me ajudar a partir.” Escola. Eu não praticava esportes, não participava de clubes, não tinha amigos. Mas sabia quem vendia drogas; todo mundo sabia isso. Qualquer coisa que você quisesse, e o que eu queria eram tranquilizantes, e isso era fácil. Ela queria tomar quando eu fosse para a escola, de modo que eu estivesse fora quando acontecesse, mas a convenci do contrário. Ela os tomou à noite, eu me deitei ao lado dela e segurei sua mão quando o sono a envolveu. E permaneci ali, para poder saber quando sua respiração parasse, mas não consegui continuar acordado. Eu adormeci, e quando acordei ao amanhecer ela tinha partido. Eu arrumei a casa, fui para meu quarto e fiz parecer que alguém tinha dormido na cama. Saí para a escola e me impedi de pensar em qualquer coisa. Voltei para casa e, ao virar a chave na fechadura, tive um devaneio, de esperar que ela estivesse circulando quando abrisse a porta. É, tá. Eu a encontrei onde a deixara, telefonei para o médico, disse que tinha saído de manhã sem querer incomodá-la. Ele sabia que havia sido os comprimidos, eu sabia que ele sabia disso, mas ele quis me poupar e disse que tinha sido o coração parando de repente, disse que acontecia em muitos casos como o dela. Se ela estivesse viva, se nunca tivesse ficado doente, eu ainda estaria morando lá. Nós dois naquela casa, e o resto do mundo trancado do lado de fora.
– Não posso fingir que nunca pensei nisso – comentou ela. – Mas eu nunca desejei isso. Ele não é um homem mau. Ele tem sido bom para mim. – Cuida bem de você. – Ele limpa os tacos de golfe depois de jogar uma partida. Tem um pedaço de flanela que usa para lustrar as cabeças de ferro. Leva os carros para as revisões agendadas. E sim, cuida muito bem de mim. – Talvez seja tudo o que você queira. – Eu estava disposta a me contentar com isso. – E não está mais? – Não sei – respondeu, e colocou a mão em mim. Por só um momento, era outra mão, uma mão firme, mas gentil, e eu era novamente um garoto. Só por um instante, e depois passou. Ela continuou me segurando e não disse mais nada, mas eu podia ouvir a voz dela em minha cabeça como se tivesse falado. “Disposta a me contentar? Não mais, meu querido, porque conheci você e meu mundo mudou para sempre. Se pelo menos alguma coisa pudesse acontecer a ele e pudéssemos ficar juntos para sempre. Se pelo menos...” – Você quer que eu o mate – falei. – Ai, meu Deus! – Não era a isso que você ia chegar? Ela não respondeu, inspirou e expirou profundamente, inspirou e expirou. Depois falou. – Você já... – O governo o coloca em um uniforme, lhe dá um fuzil, o manda para o outro lado do mundo. Um homem acaba fazendo um monte de coisas que do contrário nunca faria. Tudo o que era verdade, imagino, mas não tinha nada a ver comigo. Eu nunca fui das Forças Armadas. Uma vez fui me alistar. Se você zanza muito, diferentes coisas começam a parecer boas para você. O analista do exército me fez um monte de perguntas, ouviu alguma coisa de que não gostou em minhas respostas, e eles me agradeceram pelo meu tempo e me mandaram embora. Sou obrigado a dizer que aquele homem era bom no que fazia. Eu não teria gostado de lá, e eles também não teriam gostado muito de mim.
Ela achou alguma outra coisa sobre o que falar, alguma história longa sobre um vizinho deles. Fiquei deitado lá, olhando seus lábios se movendo, sem escutar o que dizia. Por que ter esse trabalho? O que ela não estava dizendo era mais importante. Devia estar satisfeita consigo mesma, eu suponho. Porque conseguira chegar ao ponto que queria sem precisar dizer ela mesma as palavras. Conduziu tudo tão bem que toquei no assunto por ela. Tipo: estou dois passos à sua frente, menina. Sabia para onde você estava indo, vi o caminho sinuoso que tinha traçado e imaginei que poderia nos poupar algum tempo. Melhor agora, olhando sem escutar. E era como se eu não pudesse escutá-la nem mesmo se quisesse, só pudesse ouvir a voz dela falando em minha cabeça, me dizendo o que eu sabia que estava pensando. Como poderíamos ficar juntos pelo resto de nossas vidas, como eu era tudo o que queria e tudo de que precisava, como iríamos ter uma vida de luxo, encanto e viagens. A voz dela em minha cabeça, criando imagens da ideia dela do que seria paraíso para mim. Vozes. Ela se moveu, ficou de lado. Parou de falar, parei de ouvir aquela outra voz, e ela correu a mão pelo meu corpo. Beijou meu rosto, meu pescoço, e foi descendo. É, tá. Para me dar uma prova dos loucos prazeres que estariam à disposição assim que seu marido estivesse morto e enterrado. Porque todo homem adora isso, certo? O fato é que eu não. Não desde que outra mulher tomou os comprimidos que comprei para ela e não acordou.
Uma vez, eu tinha um encontro com uma garota da minha sala. E ela estava me preparando. “Você pode fazer com que ela chupe. Ela ainda deve ser virgem, não pode ficar grávida com isso, e irá deixá-lo feliz. Além disso, bem no fundo ela está louca para fazer isso, mas o que você quer é ajudá-la, dizer a ela quando estiver fazendo algo errado. Como se você fosse o treinador dela, entende?” Então ela partiu, e desde então não gosto que ninguém faça isso comigo. Aquele psicanalista do exército? Acho que ele era bom no que fazia. Ainda assim, ela o deixou duro. Ele segue suas próprias regras, não é mesmo? O sangue corre para lá ou não, e você não pode fazer com que aconteça ou impedir de acontecer. Não significava que eu estava gostando, não significava que queria que ela continuasse. Quanto mais ela fazia aquilo, menos eu gostava. Segurei a cabeça dela, a afastei. – Alguma coisa errada? – Minha vez – disse, e a deitei na cama, coloquei um travesseiro embaixo da bunda dela e meti o dedo para ter certeza de que estava molhada. Coloquei o dedo na sua boca, lhe dei uma prova de si mesma. Meti nela, montei longa e duramente, longa e duramente. Ela teve um daqueles orgasmos contínuos que não terminam, seguindo, seguindo, seguindo, o presente que não acaba. Não sei onde minha cabeça estava enquanto aquilo acontecia. Em algum lugar, ligada em alguma outra coisa. Vendo HBO enquanto ela era fodida no Showtime. Quando ela terminou, fiquei onde estava: em cima dela e dentro dela. Olhei para o rosto dela abaixo, maxilar caído, olhos fechados, e vi o que não tinha visto mais cedo. Que ela parecia um porco. Seus traços tinham um toque suíno. Nunca tinha visto aquilo antes. Engraçado. Os olhos dela se abriram. E sua boca começou a trabalhar, me contando que nunca antes tinha sido como aquilo. – Você... – Ainda não. – Meu Deus, você ainda está duro! Há alguma coisa... – Ainda não. Tem uma coisa que eu gostaria de saber primeiro. Quando você entrou no bar. – Uma vida atrás. – Ela relaxou com o que achou que seria uma caminhada pela memória. Como nos conhecemos, como nos apaixonamos sem que uma palavra tivesse sido dita. – O que eu estava pensando. Como soube? – Como eu... – Como soube que eu era o único homem ali que estaria disposto a matar seu marido para você? Olhos arregalados. Sem fala. – O que viu? O que achou ter visto? E meus quadris começaram a trabalhar, lentamente, movimentos curtos. – Você tinha tudo organizado na cabeça – falei. Coloquei meus cotovelos sobre os ombros dela, prendendo-a na cama, e minhas mãos encontraram seu pescoço, envolvendo-o. – Você estaria fora da cidade, talvez pegasse algum outro cara de sorte para garantir que teria um álibi. Gozaria muito com ele, porque o tempo todo estaria pensando em como eu estava fazendo aquilo, matando seu marido. Imaginando exatamente como eu estaria fazendo: estou usando uma arma de fogo, uma faca, um porrete? E você pensa em mim acabando com ele com minhas próprias mãos, e é o que realmente a faz gozar, não é? Não é? Ela estava dizendo alguma coisa, mas eu não conseguia escutar. Não conseguiria ter escutado um trovão, não teria escutado o mundo chegando ao fim. – Enchendo minha cabeça com felizes para sempre, mas assim que ele tivesse partido você não precisaria mais de mim, não é? Talvez fosse encontrar outro otário, fazer com que me tirasse de cena. Enfiando com mais força agora. E minhas mãos apertando sua garganta. O terror nos olhos dela. Jesus, dava para sentir o gosto. Então, as luzes se apagaram em seus olhos, e ela tinha partido. Mais três, quatro estocadas e eu cheguei aonde queria. O engraçado é que realmente não senti. A máquina funcionou e me aliviei dentro dela, mas não dava para chamar aquilo de sensacional, porque, sabe, não envolveu exatamente muita sensação. Houve um alívio, e isso caiu bem, como uma mijada depois de você ter passado muito tempo com a bexiga cheia. O fato é que é assim com maior frequência do que não é. Eu diria que o psicanalista do exército poderia explicar isso, mas não vamos transformá-lo em um gênio. Tudo o que ele sabia era que o exército ficaria melhor sem mim. Quase todo mundo fica melhor sem mim. Claudia certamente. Caída ali naquele momento com a garganta esmagada e os olhos vidrados. No instante em que coloquei os olhos nela soube que ela tinha todo o roteiro escrito na cabeça. Como soube? Como me escolheu? E se eu sabia de tudo isso, se podia ler o roteiro dela e conceber um final diferente daquele que ela tinha em mente, por que lhe paguei um drinque? No final das contas, quanta escolha eu tinha nisso depois que ela entrara e colocara a mão no meu braço? Era hora de sair daquela cidade, mas quem eu achava que estava enganando? Eu iria encontrar a mesma coisa na cidade seguinte, ou naquela depois dessa. Outro bar de periferia, onde poderia ter de brigar com um cara ou não, mas de qualquer forma iria sair com uma mulher. Ela poderia não ter aparência tão boa quanto esta, e poderia ter mais pelos além daqueles na cabeça, mas teria os mesmos planos para mim. E se eu ficasse longe dos bares? Se fosse a encontros de igreja, ou reuniões de pais solteiros, algo assim? Poderia funcionar, mas eu não contaria com isso. Com a minha sorte, acabaria no mesmo maldito lugar. Como disse, eu realmente sei como escolhê-las.
.
.
BRANDON SANDERSON
Outra das estrelas em rápida ascensão no gênero da fantasia, com autores como Joe Abercrombie, Patrick Rothfuss, Scott Lynch, Lev Grossman e K.J. Parker, Brandon Sanderson foi escolhido para concluir a famosa sequência Roda do tempo, obra incompleta de Robert Jordan, uma tarefa imensa que ele levou a cabo com livros como The Gathering Storm, Towers of Midnight e A Memory of Light. Também é conhecido por outra série de fantasia, “Mistborn – Nascidos da Bruma”, composta de O império final, O poço da ascensão, O heróis das eras, que será lançado pela editora LeYa, e The Alloy of Law, bem como a jovem “Alcatraz”, que inclui Alcatraz contra os bibliotecários do mal, Alcatraz contra os ossos do escrivão, Alcatraz versus the Knights of Crystallia e Alcatraz versus the Shattered Lens. Entre seus outros livros estão os romances Elantris, Warbreaker e Firstborn, e o primeiro da nova série “Stormlight Archive”, The Way of Kings. Ele mora em American Fork , Utah, e mantém na internet o site brandonsanderson.com. Aqui ele nos leva bem fundo ao silêncio das Florestas com a história de uma mulher desesperada e perigosa que arriscará tudo, fará tudo, para salvar sua família, mesmo num lugar onde fantasmas famintos esperam escondidos atrás de todas as árvores e onde um movimento em falso significa morte instantânea...
.
SOMBRAS NAS FLORESTAS DO INFERNO
– Aquele em quem você tem que ficar de olho é Raposa Branca – alertou Daggon, tomando sua cerveja. – Dizem que ele apertou a mão do próprio Mal, que visitou o Mundo Caído e retornou com estranhos poderes. Ele consegue acender fogo mesmo nas noites mais profundas, e nenhuma sombra ousa ir buscar sua alma. Sim, Raposa Branca. O desgraçado mais malvado da área, sem dúvida. Reze para que ele não coloque os olhos sobre você, meu amigo. Se colocar você estará morto. O companheiro de mesa de Daggon tinha um pescoço parecido com uma garrafa de vinho fina e uma cabeça como uma batata enfiada de lado no alto. Ele guinchava ao falar, com sotaque de Lastport, a voz ecoando no beiral do salão da pousada. – Por que... Por que ele colocaria os olhos em mim? – Isso depende, amigo – respondeu Daggon, olhando ao redor enquanto alguns mercadores vestidos com exagero entravam caminhando despreocupadamente. Usavam casacos pretos, rendas engomadas se projetando à frente, e os chapéus de copa alta e aba larga do povo do forte. Eles não durariam duas semanas ali, nas Florestas. – Depende? – retrucou o companheiro de jantar de Daggon. – Depende do quê? – De muitas coisas, amigo. O Raposa Branca é um caçador de recompensas, você sabe. Quais crimes você cometeu? O que fez? – Nada – respondeu. O guincho era como uma roda enferrujada. – Nada? Os homens não vêm para as Florestas para fazer “nada”, amigo. O companheiro dele olhou para os dois lados. Ele dissera que seu nome era Sincero. Mas Daggon dissera que o seu era Amizade. Nomes não significavam muita coisa nas Florestas. Ou talvez significassem tudo. Pelo menos, os certos. Sincero recostou, encolhendo aquele pescoço de vara de pescar, como se tentasse desaparecer dentro da cerveja. Ele tinha engolido. As pessoas gostavam de ouvir sobre o Raposa Branca, e Daggon se considerava um especialista. Pelo menos, era especialista em contar histórias para fazer homens sujos como Sincero pagar suas bebidas. “Vou dar a ele algum tempo para fermentar”, pensou Daggon, sorrindo para si mesmo. “Deixe ele se preocupar.” Sincero logo lhe pediria mais informações. Enquanto esperava, Daggon recostou, avaliando o salão. Os mercadores estavam criando confusão, pedindo comida, dizendo que deveriam estar a caminho em uma hora. Isso provava que eram idiotas. Viajar à noite nas Florestas? Bons fazendeiros fariam isso. Mas homens como aqueles... Provavelmente levariam menos de uma hora para violar uma das Regras Simples e atrair as sombras para eles. Daggon tirou os idiotas da cabeça. Já aquele sujeito no canto... Vestido todo de marrom, ainda de chapéu apesar de estar em local fechado. Aquele sujeito parecia realmente perigoso. “Fico imaginando se é ele”, pensou Daggon. Pelo que sabia, ninguém tinha visto o Raposa Branca e vivido. Dez anos, mais de cem recompensas recebidas. Com certeza alguém sabia seu nome. Afinal, as autoridades nos fortes pagavam as recompensas a ele. A dona da pousada, Madame Silêncio, passou pela mesa e depositou a refeição de Daggon com uma batida sem-cerimônia. Franzindo o cenho, ela completou sua cerveja, derramando um pouco de espuma na mão dele antes de seguir em frente, mancando. Ela era uma mulher corpulenta. Dura. Todos nas Florestas eram duros. Pelo menos, aqueles que sobreviviam. Ele tinha aprendido que um cenho franzido de Silêncio era apenas seu jeito de dizer olá. Ela lhe dera uma porção extra de cervo; fazia isso com frequência. Gostava de pensar que ela tinha simpatia por ele. Talvez um dia... “Não seja idiota”, pensou consigo mesmo, enquanto atacava a comida coberta de molho. Melhor se casar com uma pedra que com Silêncio Montane. Uma pedra demonstrava mais afeto. É bem provável que lhe dera a fatia a mais por ter reconhecido o valor de um freguês habitual. Ultimamente cada vez menos gente ia para lá. Sombras demais. E havia Chesterton. Uma coisa feia, aquilo. – Então... Ele é um caçador de recompensas, esse Raposa? – perguntou o homem que chamava a si mesmo de Sincero e parecia estar suando. Daggon sorriu. Fora fisgado direitinho, aquele. – Ele não é apenas um caçador de recompensas. Ele é o caçador de recompensas. Mas o Raposa Branca não vai atrás dos pequenos... E sem querer ofender, amigo, você parece bastante pequeno. O amigo ficou mais nervoso. O que ele tinha feito? – Mas – começou a gaguejar o homem – ele não iria atrás de mim... Ahn, supondo que eu tivesse feito alguma coisa, claro... Seja como for, ele não entraria aqui, não é mesmo? Quero dizer, a pousada de Madame Silêncio, ela é protegida. Todo mundo sabe disso. A sombra de seu marido morto vive por aqui. Eu tinha um amigo que a viu, tinha mesmo. – O Raposa Branca não teme sombras – disse Daggon, se inclinando para a frente. – Agora, veja bem, eu não acho que ele se arriscaria a entrar aqui; mas não por causa de alguma sombra. Todos sabem que este território é neutro. Você precisa ter alguns lugares seguros, mesmo nas Florestas. Mas... Daggon sorriu para Silêncio quando ela passou por ele novamente a caminho da cozinha. Dessa vez, ela não franziu o cenho. Ele estava vencendo as barreiras dela. – Mas? – guinchou Sincero. – Bem... – continuou Daggon. – Eu poderia lhe contar algumas coisas sobre como o Raposa Branca pega os homens, mas veja, minha cerveja está quase vazia. Uma vergonha. Acho que você estaria muito interessado em como o Raposa Branca apanhou o Pacificador Hapshire. Uma grande história, essa. Sincero guinchou para que Silêncio trouxesse outra cerveja, embora ela tivesse entrado na cozinha sem ouvir. Daggon franziu o cenho, mas Sincero colocou uma moeda na lateral da mesa, indicando que gostaria de outra dose quando Silêncio ou a filha voltassem. Isso bastaria. Daggon sorriu consigo mesmo e começou a contar a história.
Silêncio Montane fechou a porta para o salão, depois se virou e colou as costas nela. Tentou desacelerar seu coração disparado respirando. Será que tinha dado algum sinal óbvio? Será que eles sabiam que os reconhecera? William Ann passou, limpando as mãos num pano. – Mãe? – perguntou a jovem, fazendo uma pausa. – Mãe, você está... – Pegue o livro. Rápido, criança! O rosto de William Ann ficou pálido, depois ela correu para a despensa nos fundos. Silêncio agarrou o avental para tentar se acalmar, em seguida se juntou a William Ann quando a garota saiu da despensa com uma bolsa de couro grossa. Farinha branca cobria capa e lombada por causa do esconderijo. Silêncio pegou a bolsa e a abriu no balcão alto da cozinha, revelando uma coleção de papéis soltos. A maioria tinha desenhos de rostos. Enquanto Silêncio folheava as páginas, William Ann foi espiar o salão pela vigia. Por alguns momentos, o único som a acompanhar o coração acelerado de Silêncio foi o das páginas sendo viradas apressadamente. – É o homem com o pescoço comprido, não é? – quis saber William Ann. – Eu me lembro do rosto dele de um dos avisos de recompensa. – Esse é apenas Lamento Winebare, um ladrãozinho de cavalos. Ele mal vale duas medidas de prata. – Quem, então? O homem nos fundos, de chapéu? Silêncio balançou a cabeça, encontrando uma sequência de páginas no final da pilha. Estudou os desenhos. “Deus Além”, ela pensou. “Não consigo decidir se quero que sejam eles ou não.” Pelo menos, suas mãos tinham parado de tremer. William Ann voltou rapidamente e esticou o pescoço sobre o ombro de Silêncio. Aos 14 anos, a garota já era mais alta que a mãe. Uma bela coisa pela qual sofrer, uma filha mais alta que você. Embora William Ann resmungasse de ser desajeitada e comprida, sua constituição esguia antecipava uma beleza futura. Ela puxou ao pai. – Ah, Deus Além – disse William Ann, levando a mão à boca. – Quer dizer... – Chesterton Divide – falou Silêncio. A forma do queixo, a expressão nos olhos... Eram iguais. – Ele caiu bem nas nossas mãos, com quatro de seus homens. A recompensa pelos cinco seria suficiente para pagar sua necessidade de suprimentos por um ano. Talvez dois. Seus olhos passaram para as palavras abaixo dos retratos, impressas em letras duras em negrito. Extremamente perigoso. Procurado por homicídio, estupro, extorsão. E, claro, havia o grande final: E assassinato político. Silêncio sempre imaginara se Chesterton e seus homens pretenderam matar o governador da cidade mais poderosa do continente, ou se aquilo tinha sido um acidente. Um simples roubo que dera errado. De qualquer forma, Chesterton compreendia o que aconteceu. Antes do incidente, ele era um bandido de estrada comum – embora bem-sucedido.
Depois ele se tornou algo maior, algo muito mais perigoso. Chesterton sabia que se fosse capturado não haveria misericórdia, não haveria quartel. Lastport pintara Chesterton como um anarquista, uma ameaça e um psicopata. Chesterton não tinha motivo para se conter. Então, não se continha. “Ah, Deus Além”, pensou Silêncio, olhando para a continuação de sua relação de crimes na página seguinte. Ao lado dela, William Ann sussurrava as palavras para si mesma. – Ele está lá fora? Onde? – Os mercadores – respondeu Silêncio. – O quê? William Ann voltou apressada para a vigia. A madeira ali – na verdade de toda a cozinha – fora esfregada com tanta força que acabara branca. Sebruki estivera limpando novamente. – Não consigo ver – disse William Ann. – Olhe com mais atenção. Silêncio também não tinha visto de primeira, embora passasse todas as noites com o livro, decorando seus rostos. Algum tempo depois, William Ann engasgou, levando a mão à boca. – Isso parece muito tolo da parte dele. Por que está à vista assim? Mesmo disfarçado? – Todos irão se lembrar apenas de mais um bando de mercadores idiotas do forte que acharam que podiam enfrentar as Florestas. É um disfarce inteligente. Quando desaparecerem das trilhas em alguns dias, todos irão supor, caso alguém se preocupe em supor, que as sombras os pegaram. Ademais, desse modo Chesterton pode viajar rápida e abertamente, visitando pousadas e ouvindo informações. Seria assim que Chesterton descobria bons alvos para atacar? Será que tinha passado antes por sua pousada? A ideia revirou seu estômago. Ela alimentara criminosos muitas vezes, alguns eram clientes regulares. Todo homem nas Florestas provavelmente era um criminoso, no mínimo por ignorar os impostos cobrados pelo povo do forte. Chesterton e seus homens eram diferentes. Ela não precisava da lista de crimes para saber o que eram capazes de fazer. – Onde está Sebruki? – perguntou Silêncio. William Ann estremeceu, como se saindo de um estupor. – Está alimentando os porcos. Sombras! Não acha que eles a reconheceram, acha? – Não – respondeu Silêncio. – Eu temo que ela os reconheça. Sebruki podia ter apenas 8 anos, mas era capaz de ser chocantemente – perturbadoramente – observadora. Silêncio fechou o livro de recompensas. Pousou os dedos no couro. – Nós iremos matá-los, não iremos? – perguntou William Ann. – Sim. – Quanto eles valem? – Algumas vezes, criança, a questão não é quanto um homem vale. Silêncio ouviu a pequena mentira em sua voz. Os tempos estavam cada vez mais difíceis com o preço da prata de Bastion Hill e Lastport em alta. Algumas vezes não era quanto um homem valia. Mas esta não era uma dessas vezes. – Vou pegar o veneno – retrucou William Ann, deixando a vigia e cruzando o aposento. – Algo leve, criança – alertou Silêncio. – Esses são homens perigosos. Notarão se as coisas estiverem fora do comum. – Não sou idiota, mãe – disse William Ann secamente. – Vou usar fenweed. Eles não sentirão o gosto na cerveja. – Meia dose. Não quero que desmaiem na mesa. William Ann anuiu, entrando no antigo depósito, onde fechou a porta e começou a levantar tábuas do piso para chegar aos venenos. Fenweed deixaria os homens com as cabeças turvas e tontos, mas não os mataria. Silêncio não ousava arriscar algo mais mortal. Se um dia desconfiassem de sua pousada, sua carreira – e até sua vida – teria um fim. Ela precisava continuar sendo, nas mentes dos viajantes, a estalajadeira ranzinza, mas justa, que não fazia perguntas demais. Sua pousada era um lugar visto como seguro, mesmo para os piores criminosos. Ela ia para cama toda noite com o coração tomado por medo de que alguém se desse conta do suspeito número de alvos da Raposa Branca que tinha estado na pousada de Silêncio nos dias anteriores à sua derrocada. Ela entrou na despensa para guardar o livro de recompensas. Também ali as paredes foram esfregadas, as prateleiras, areadas e limpas. Aquela criança. Quem tinha ouvido falar de uma criança que preferia limpar a brincar? Claro, considerando aquilo pelo que Sebruki passara... Silêncio não se conteve em esticar a mão até a prateleira de cima para sentir a besta que mantinha ali. Pontas de seta de prata. Ela a mantinha ali por causa das sombras, e ainda não a virara na direção de um homem. Era perigoso demais derramar sangue nas Florestas. Ainda assim, era reconfortante saber que, numa verdadeira emergência, ela tinha a arma à mão. Livro de recompensas guardado, ela foi ver Sebruki. A criança de fato estava cuidando dos porcos. Silêncio gostava de ter um rebanho saudável, embora não, claro, para comer. Dizia-se que os porcos afastavam as sombras. Ela usava todas as ferramentas que podia para fazer a pousada parecer mais segura. Sebruki estava ajoelhada dentro da pocilga. A menina baixa tinha pele escura e compridos cabelos pretos. Ninguém a teria considerado filha de Silêncio, mesmo não conhecendo a infeliz história de Sebruki. A criança cantarolava para si mesma, esfregando a parede do cercado. – Criança? – chamou Silêncio. Sebruki se virou para ela e sorriu. Quanta diferença um ano podia fazer. Um dia, Silêncio teria jurado que aquela criança nunca mais sorriria novamente. Sebruki passara seus primeiros três meses na pousada olhando para as paredes. Não importava onde Silêncio a colocasse, a criança se mudava para a parede mais próxima, sentava e a olhava o dia inteiro. Sem nunca dizer uma palavra. Olhos mortos como os de uma sombra... – Tia Silêncio? – perguntou Sebruki. – Está bem? – Estou bem, criança. Apenas atormentada por lembranças. Você está...
Limpando a pocilga agora? – As paredes precisam de uma boa escovada – respondeu Sebruki. – Os porcos gostam que ela esteja limpa. Bem, Jarom e Ezekiel preferem assim. Os outros parecem não se importar. – Você não precisa limpar tanto, criança. – Eu gosto de fazer isso – confessou Sebruki. – É bom. É algo que posso fazer. Para ajudar. Bem, era melhor limpar as paredes que olhar para elas o dia todo com olhos vazios. Naquele dia, Silêncio ficava feliz com qualquer coisa que mantivesse a criança ocupada. Qualquer coisa, desde que não entrasse no salão. – Acho que os porcos irão gostar – comentou Silêncio. – Por que não continua com isso mais um pouco? Sebruki olhou para ela. – O que há de errado? Sombras. Ela era muito observadora. – Há alguns homens com linguajar grosseiro no salão – respondeu Silêncio. – Não quero que ouça seus xingamentos. – Não sou uma criança, tia Silêncio. – Sim, você é – disse Silêncio com firmeza. – E irá me obedecer. Não pense que eu não lhe daria uma palmada no traseiro. Sebruki revirou os olhos, mas voltou ao trabalho e recomeçou a cantarolar. Silêncio adotava um pouco do jeito da avó quando falava com Sebruki. A criança reagia bem à firmeza. Parecia ansiar por isso, talvez como símbolo de que havia alguém no comando. Silêncio desejava estar no comando. Mas ela era uma Forescout – o sobrenome adotado por seus avós e os outros que foram os primeiros a deixar Terra Natal e explorar aquele continente. Sim, ela era uma Forescout, e de modo algum deixaria alguém saber o quão impotente se sentia grande parte de tempo. Silêncio atravessou o quintal da hospedaria, observando William Ann na cozinha preparando uma pasta que seria dissolvida na cerveja. Silêncio passou por ela e foi olhar o estábulo. Previsivelmente, Chesterton dissera que eles partiriam depois da refeição. Enquanto muita gente buscava a relativa segurança de uma pousada à noite, Chesterton e seus homens estariam acostumados a dormir nas Florestas. Mesmo com as sombras à solta, eles se sentiriam mais confortáveis em seu próprio acampamento do que nas camas de uma pousada. Dentro do estábulo, Dob, o velho ajudante, acabara de escovar os cavalos. Ele não tinha dado água a eles. Silêncio ordenava não fazer isso até a última hora. – Bem feito, Dob – disse Silêncio. – Por que não vai tirar um intervalo? Ele anuiu para ela. – Obrigado, senhora. Ele iria até a varanda da frente e pegaria seu cachimbo, como sempre. Dob não era muito bom da cabeça, e não tinha ideia do que ela fazia na pousada, mas estava lá com ela desde antes da morte de William. Era o homem mais leal que já conhecera. Silêncio fechou a porta depois que ele saiu e pegou algumas bolsas no armário trancado dos fundos do estábulo. Verificou cada uma à luz fraca, depois as botou na mesa e colocou a primeira sela no lombo de seu dono. Tinha quase terminado com as selas quando a porta se abriu. Ela ficou paralisada, pensando nas bolsas na mesa. Por que não as enfiara no avental? Desleixada! – Silêncio Forescout – disse uma voz suave desde o portão. Silêncio sufocou um gemido e se virou para encarar o visitante. – Theopolis. Não é educado se esgueirar pela propriedade de uma mulher. Eu deveria expulsá-lo por invasão. – Ora, ora. Isso seria muito como... o cavalo dar um coice no homem que o alimenta, não? Theopolis apoiou seu corpo comprido no umbral, cruzando os braços. Vestia roupas simples, que não indicavam sua posição. O coletor de impostos do forte com frequência não queria que passantes casuais identificassem sua profissão. Barbeado, seu rosto sempre tinha o mesmo sorriso paternalista. Suas roupas eram limpas demais, novas demais para serem de alguém que vivia nas Florestas. Não que ele fosse um dândi, e ele não era idiota. Theopolis era perigoso, apenas um tipo de perigoso diferente da maioria. – Por que está aqui, Theopolis? – perguntou ela, colocando a última sela no lombo de um castrado malhado. – Por que sempre venho até você, Silêncio? Não é por causa de sua expressão alegre, hein? – Paguei meus impostos. – Isso porque você é muito isenta de impostos – retrucou Theopolis. – Mas você não me pagou pelo carregamento de prata do mês passado. – Tem sido uma seca ultimamente. Não demora e pagarei. – E as setas para sua besta? – insistiu Theopolis. – Fico pensando se está tentando esquecer o preço daquelas pontas de setas de prata, hein? E o carregamento de seções de reposição para seus anéis de proteção? Seu sotaque agudo fez com que ela se encolhesse enquanto apertava a sela. Theopolis. Pelas sombras, que dia! – Ora veja – disse Theopolis, indo até a mesa de equipamentos. Pegou uma das bolsas. – O que são essas coisas? Isso parece seiva de wetleek. Ouvi dizer que isso brilha no escuro se você usar o tipo certo de luz. Esse é um dos segredos misteriosos de Raposa Branca? Ela arrancou a bolsa dele. – Não diga esse nome – sibilou. Ele sorriu. – Você tem uma recompensa! Que delícia. Sempre fiquei imaginando como você os rastreava. Faça um buraco nisso, prenda embaixo da sela, depois siga a trilha de gotas que ela deixa? Hein? Você poderia rastrear por uma longa distância, matá-los bem longe daqui. Manter a suspeitas longe de sua pequena pousada. Sim, Theopolis era perigoso, mas ela precisava que alguém entregasse os procurados em seu lugar. Theopolis era um rato e, como todos os ratos, conhecia os melhores buracos, ralos e fendas. Tinha contatos em Lastport e conseguia receber seu dinheiro em nome de Raposa Branca sem revelar quem era.
– Eu me senti tentado a entregar você recentemente, sabe? Muitos grupos têm bolões de apostas sobre a identidade da infame raposa. Eu seria um homem rico com esse conhecimento, hein? – Você já é um homem rico. E, embora seja muitas coisas, não é um idiota. Isso tem funcionado bem há uma década. Não me diga que trocaria riqueza por um pouco de fama? Ele sorriu, mas não contestou. Ficava com metade do que ela recebia de cada recompensa. Era um belo acordo para Theopolis. Nenhum risco, motivo pelo qual ela sabia que ele gostava. Era um funcionário público, não um caçador de recompensas. A única vez que o vira matar, o homem que ele assassinara não podia reagir. – Você me conhece bem demais, Silêncio – comentou Theopolis com um riso. – Realmente, bem demais. Ora, ora. Uma recompensa! Fico pensando em quem é. Vou ter de dar uma olhada no salão. – Você não vai fazer nada disso. Pelas sombras! Você acha que o rosto de um coletor de impostos não vai afugentá-los? Não entre lá e estrague tudo. – Paz, Silêncio – falou, ainda sorrindo. – Eu sigo as suas regras. Tomo cuidado de não aparecer aqui com muita frequência e faço com que não desconfiem de vocês. De qualquer forma, eu não poderia ficar hoje; só vim para lhe fazer uma oferta. Só que agora você provavelmente não precisa! Ah, que pena. Depois de todos os problemas que tive por sua causa, hein? Ela sentiu um frio. – Que ajuda você poderia me dar? Ele tirou uma folha de papel da bolsa, depois a desdobrou com dedos compridos demais. Ia erguê-la, mas ela a tomou. – O que é isso? – Um modo de livrá-la de sua dívida, Silêncio. Um modo de poupá-la de ter de se preocupar novamente. O papel era uma ordem de confisco, uma autorização para que os credores de Silêncio – Theopolis – tomassem sua propriedade como pagamento. Os fortes tinham jurisdição sobre as estradas e as terras de ambos os lados. Eles enviavam soldados para patrulhá-las. Eventualmente. – Pegue isso de volta, Theopolis – falou com desprezo. – Você certamente é um idiota. Você abriria mão de tudo o que temos pela ganância de um pedaço de terra? – Claro que não, Silêncio. Com isso, eu não estaria abrindo mão de nada! Veja, eu me sinto mal de verdade por ter você sempre me devendo. Não seria mais eficiente se eu assumisse as finanças da pousada? Você continuaria trabalhando aqui, caçando recompensas, como sempre. Só que não teria mais de se preocupar com suas dívidas, hein? Ela amassou o papel em sua mão. – Você transformaria a mim e aos meus em escravos, Theopolis. – Ah, não seja dramática. Algumas pessoas em Lastport começaram a perguntar como uma pousada como essa pertence a alguém desconhecido. Você está chamando a atenção, Silêncio. Acredito que é a última coisa que quer. Silêncio amassou ainda mais o papel, o punho apertado. Os cavalos presos em suas barracas. Theopolis sorriu. – Bem, talvez isso não seja necessário. Talvez essa sua recompensa seja grande, hein? Pode me dar alguma pista para eu não ter de ficar imaginando o dia inteiro? – Fora daqui. – Querida Silêncio. Sangue Forescout, teimosa até o último suspiro. Dizem que os seus avós foram os primeiros de todos. As primeiras pessoas pioneiras neste continente, as primeiras a ocupar as Florestas... As primeiras a reivindicar o próprio inferno. – Não chame as Florestas disso. Este é meu lar. – Mas é como os homens viam esta terra antes do Mal. Isso não a deixa curiosa? Inferno, terra dos condenados, onde as sombras dos mortos criaram seu lar. Eu fico pensando: há mesmo uma sombra de seu marido falecido protegendo este lugar ou esta é apenas outra história que você conta às pessoas? Para fazer com que se sintam seguras, hein? Você gasta uma fortuna em prata. Isso oferece a verdadeira proteção, e nunca consegui encontrar um registro de seu casamento. Claro, se não houve nenhum, isso faria da querida William Ann uma... – Fora. Ele sorriu de novo, mas fez um gesto com o chapéu na direção dela e saiu. Ela o ouviu sentar na sela, depois sair cavalgando. A noite logo iria chegar; seria demais esperar que as sombras pegassem Theopolis. Fazia tempo que ela desconfiava de que ele tinha um esconderijo em algum lugar próximo, talvez uma caverna, que mantinha cheia de prata. Inspirou e expirou, tentando se acalmar. Theopolis era frustrante, mas não sabia tudo. Ela se obrigou a voltar suas atenções para os cavalos e pegou um balde de água. Jogou dentro dele o conteúdo das bolsas e depois deu uma boa dose aos cavalos, que beberam, sequiosos. Theopolis indicara que bolsas que pingassem seiva seriam muito fáceis de ver. O que aconteceria quando seus procurados retirassem as selas à noite e descobrissem as bolsas de seiva? Saberiam que alguém estava indo atrás deles. Não, ela precisava de algo menos evidente. – Como vou dar um jeito nisso? – sussurrou ela enquanto um cavalo bebia do balde. – Pelas sombras. Eles estão me apertando por todos os lados. “Matar Theopolis.” Isso era o que vovó teria feito. Ela pensou nisso. “Não”, pensou. “Eu não vou me tornar isso. Não vou me tornar ela.” Theopolis era um valentão e um pilantra, mas não violara lei alguma, nem causara qualquer mal diretamente a alguém, pelo que ela sabia. Tinha de haver regras, mesmo ali. Tinha de haver limites. Talvez, nesse sentido, ela não fosse tão diferente do povo do forte. Encontraria outro modo. Theopolis só tinha uma ordem de confisco; ele tivera de lhe mostrar. Isso significava que tinha um ou dois dias para conseguir o dinheiro. Tudo limpo e legal. Nas Cidades Fortalezas, eles alegavam ter uma civilização. Essas regras lhe davam uma chance. Saiu do estábulo. Uma espiada pela janela para o salão mostrou William Ann servindo bebidas aos “mercadores” da gangue de Chesterton. Silêncio parou para observar. Atrás dela, as Florestas estremeciam ao vento. Silêncio escutou, depois se virou para encará-las. Você podia identificar o povo do forte pelo modo como se recusavam a encarar as Florestas. Desviavam os olhos, nunca fitando as profundezas. Aquelas árvores solenes cobriam quase todo centímetro daquele continente, as folhas projetando sombras no solo. Imóveis. Silenciosas. Animais viviam ali, mas pesquisadores do forte declararam que não havia predadores. As sombras os apanharam muito tempo atrás, atraídas pelo derramamento de sangue. Olhar para as Florestas parecia fazer com que elas... recuassem. A escuridão de suas profundezas diminuía, a imobilidade dava lugar ao som de roedores revirando folhas caídas. Um Forescout sabia olhar para as Florestas diretamente. Um Forescout sabia que os pesquisadores estavam errados. Havia um predador lá. A própria Floresta era um. Silêncio se virou e caminhou até a porta da cozinha. Manter a pousada tinha de ser seu principal objetivo, portanto ela estava determinada a receber a recompensa por Chesterton. Se não conseguisse pagar Theopolis, tinha pouca fé em que tudo permaneceria como estava. Ele teria uma mão sobre sua garganta, já que ela não poderia deixar a pousada. Não tinha cidadania do forte, e as coisas estavam difíceis demais para que fazendeiros locais a recebessem. Não, ela teria de ficar e cuidar da pousada para Theopolis, e ele a sugaria, tomando percentagens cada vez maiores das recompensas. Ela abriu a porta da cozinha. Ela... Sebruki estava sentada à mesa da cozinha com a besta no colo. – Deus Além! – exclamou Silêncio, engasgando e fechando a porta ao entrar. – Criança, o que está... Sebruki ergueu os olhos para ela. Aqueles olhos assombrados estavam de volta, olhos sem vida nem emoção. Olhos como os de uma sombra. – Temos visitas, tia Silêncio – disse Sebruki numa voz fria e monótona. A alavanca de preparação da besta estava junto a ela. Ela conseguira carregar a coisa e engatilhar, tudo sozinha. – Eu cobri a ponta da seta com sangue preto. Eu fiz o certo, não foi? Dessa forma, o veneno certamente irá matá-lo. – Criança... – começou a falar Silêncio, se adiantando. Sebruki virou a besta no colo, segurando-a em ângulo para ter apoio, a mão pequena no gatilho. A ponta estava virada para Silêncio. Sebruki olhava para a frente, olhos vazios. – Isso não vai funcionar, Sebruki – falou Silêncio, firme. – Mesmo se você conseguisse levar essa coisa para o salão, não conseguiria atingi-lo... E mesmo se conseguisse, os homens dele matariam todos nós como vingança! – Eu não me importaria – disse Sebruki suavemente. – Desde que eu o matasse. Desde que eu puxasse o gatilho. – Você não se importa conosco? – cortou Silêncio. – Eu a abriguei, lhe dei um lar, e é assim que retribui? Rouba uma arma? Você me ameaça? Sebruki piscou. – O que há de errado com você? – continuou Silêncio. – Quer derramar sangue neste lugar protegido? Trazer as sombras até nós, superando nossas proteções? Se elas penetrassem, matariam todos sob o meu teto! Pessoas às quais eu prometi segurança. Como ousa? Sebruki estremeceu, como se despertando. Sua máscara se rompeu e ela largou a besta. Silêncio ouviu um estalo e a trava soltou. Sentiu a seta passar a dois centímetros de sua bochecha, depois quebrar a janela atrás. Pelas sombras! Será que a seta raspara Silêncio? Será que Sebruki tinha derramado sangue? Silêncio ergueu uma mão trêmula, mas não sentiu sangue. A seta não a atingira. No instante seguinte, Sebruki estava nos seus braços, soluçando. Silêncio se ajoelhou, abraçando a criança. – Calma, querida. Está tudo bem. Está tudo bem. – Eu ouvi tudo – sussurrou Sebruki. – Mamãe não gritou. Ela sabia que eu estava lá. Ela foi forte, tia Silêncio. Foi assim que eu pude ser forte, mesmo quando o sangue correu. Encharcando meu cabelo. Eu ouvi. Eu ouvi tudo. Silêncio fechou os olhos, apertando Sebruki. Ela mesma foi a única disposta a investigar a casa de fazenda fumegante. O pai de Sebruki ficara na pousada uma vez. Um bom homem. Ou melhor, um homem tão bom quanto sobrou depois que o Mal tomou Terra Natal. Nos restos fumegantes da casa, Silêncio encontrou os cadáveres de doze pessoas. Todos os membros da família foram mortos por Chesterton e seus homens, incluindo as crianças. A única a sobreviver fora Sebruki, a mais jovem, que fora enfiada no espaço apertado sob as tábuas do piso do quarto. Ela ficara deitada lá, coberta pelo sangue da mãe, sem fazer um ruído, até que Silêncio a encontrou. Só achou a garota porque Chesterton fora cuidadoso, cercando o quarto com poeira de prata para se proteger das sombras enquanto se preparava para matar. Silêncio tentara recuperar um pouco da poeira que caíra entre as tábuas do piso, e se deparara com olhos a encarando pelas fendas. Chesterton queimara treze casas de fazenda diferentes no ano anterior. Mais de cinquenta pessoas assassinadas. Sebruki fora a única a escapar dele. A garota tremia e arfava com soluços. – Por quê... Por quê? – Não há razão. Eu lamento. O que mais ela podia fazer? Oferecer algum consolo idiota ou confortá-la com o Deus Além? Ali eram as Florestas. Você não sobrevivia com trivialidades. Silêncio abraçou a garota até que o choro começou a parar. William Ann entrou, depois ficou imóvel ao lado da mesa da cozinha, segurando uma bandeja com canecas vazias. Seus olhos se voltaram para a besta caída, depois para a janela quebrada. – Você vai matá-lo? – perguntou Sebruki, sussurrando. – Vai entregá-lo à justiça? – A justiça morreu em Terra Natal – disse Silêncio. – Mas sim, eu vou matálo. Eu lhe prometo isso, criança. Avançando timidamente, William Ann pegou a besta, depois a virou, exibindo o arco quebrado. Silêncio bufou. Nunca deveria ter deixado a coisa onde Sebruki pudesse pegar. – Cuide dos clientes, William Ann – pediu Silêncio. – Vou levar Sebruki para cima. William Ann anuiu, espiando a janela quebrada. – Nenhum sangue foi derramado – avisou Silêncio. – Ficaremos bem. Mas se tiver um momento, veja se consegue encontrar a seta. A cabeça é de prata... Não era um momento em que pudessem desperdiçar dinheiro. William Ann colocou a besta na despensa enquanto Silêncio assentava Sebruki num banco da cozinha. A garota se aferrou a ela, se recusando a soltar, então Silêncio relaxou e a abraçou por mais algum tempo. William Ann respirou fundo algumas vezes, como se para se acalmar, depois voltou ao salão para servir bebidas. Sebruki soltou Silêncio por tempo suficiente para que ela preparasse uma bebida. Levou a garota escada acima, até o apartamento acima do salão onde as três tinham suas camas. Dob dormia no estábulo, e os hóspedes nos quartos melhores do segundo andar. – Você vai me fazer dormir – acusou Sebruki, olhando o copo com olhos vermelhos. – O mundo parecerá um lugar mais iluminado pela manhã – respondeu Silêncio. “E eu não posso me arriscar a você sair atrás de mim esta noite.” A garota pegou a bebida com relutância e a tomou. – Desculpe. Pela besta. – Encontraremos um modo de você pagar o custo do conserto. Aquilo pareceu reconfortar Sebruki. Ela era uma sitiante, nascida nas Florestas. – Você costumava cantar para mim à noite – disse Sebruki com suavidade, fechando os olhos e recostando. – Quando me trouxe para cá. Depois... Depois... Ela engoliu. – Eu não sabia se você notava. Silêncio não sabia se Sebruki notava alguma coisa naqueles dias. – Eu notava. Silêncio se sentou no banco ao lado do catre de Sebruki. Não sentia vontade de cantar, então começou a cantarolar. Era a canção de ninar que cantara para William Ann nos tempos difíceis logo depois do seu nascimento. Logo as palavras saíram, livres. – Calma agora, minha querida... Não tenha medo. A noite cai sobre nós, mas a luz do sol chegará cedo. Durma agora, minha querida... Deixe as lágrimas morrer . A escuridão nos cerca, mas um dia iremos acordar . Segurou a mão de Sebruki até a menina adormecer. A janela ao lado da cama dava para o pátio, então Silêncio pôde ver quando Dob pegou os cavalos de Chesterton. Os cinco homens em elegantes roupas de mercadores saíram da varanda pisando duro e montaram nas selas. Cavalgaram em fila para a estrada; depois as Florestas os envolveram.
Uma hora depois de anoitecer, Silêncio arrumou sua mochila à luz do fogareiro. Sua avó acendera a chama daquele fogareiro, e ele queimava desde então. Ela quase perdera a vida acendendo o fogo, mas não estava disposta a pagar a qualquer dos mercadores de fogo para acender. Silêncio balançou a cabeça. A avó sempre resistira às convenções. Mas Silêncio por acaso era melhor? “Não acenda fogo, não derrame o sangue de outro, não corra à noite. Essas coisas atraem sombras.” As Regras Simples segundo as quais todo sitiante vivia. Ela violara todas as três em mais de uma oportunidade. Era um espanto que ainda não tivesse se transformado em uma sombra. O calor do fogo parecia uma coisa distante enquanto se preparava para matar. Silêncio lançou um olhar sobre o velho santuário, na verdade apenas um armário, que mantinha trancado. As chamas a fizeram lembrar a avó. Às vezes, ela pensava no fogo como sendo sua avó. Desafiando tanto as sombras quanto os fortes, até o fim. Ela expurgara a pousada das outras lembranças da avó, com exceção do santuário ao Deus Além. Aquilo ficava atrás de uma porta fechada ao lado da despensa, e junto à porta um dia estivera pendurada a adaga de prata da avó, símbolo da antiga religião. Aquela adaga tinha gravados os símbolos da divindade como um alerta. Silêncio a carregava não por sua proteção, mas por ser de prata. Prata nunca era demais nas Florestas. Arrumou a mochila com cuidado, colocando seu estojo de primeiros socorros e uma bolsa de bom tamanho com pó de prata para curar ressecamento. Depois, foi a vez de dez sacos vazios de cânhamo grosso, alcatroados por dentro para impedir que o conteúdo vazasse. Por fim, acrescentou uma lamparina a óleo. Não pretendia usar, já que não confiava em fogo. Fogo podia atrair sombras. Contudo, descobrira em expedições anteriores que era algo útil, então a levou. Só a acenderia caso se deparasse com alguém que já tivesse fogo. Com isso pronto, ela hesitou, depois foi ao velho depósito. Retirou as tábuas do piso e pegou o pequeno barril selado que estava ao lado dos venenos. Pólvora. – Mãe? – chamou William Ann, fazendo com que ela desse um pulo. Não ouvira a garota entrando na cozinha. Por pouco Silêncio não deixou o barril cair com o susto, e aquilo quase fez seu coração parar. Ela se amaldiçoou por ser uma idiota, enfiando o barril debaixo do braço. Ele não podia explodir sem fogo. Sabia disso. – Mãe! – repetiu Wiliam Ann, olhando para o barril. – Eu nem irei precisar. – Mas... – Eu sei. Calma. Ela se adiantou e colocou o barril na mochila. Preso ao lado do barril, com pano entre as pinças de metal, estava o velho acendedor de sua avó. Detonar pólvora era o equivalente a iniciar uma chama, pelo menos aos olhos das sombras. Isso as atraía quase tão rápido quanto sangue, de dia ou à noite. Os primeiros refugiados da Terra Natal descobriram isso rapidamente. De certa forma, era mais fácil evitar sangue. Um sangramento nasal ou um ferimento não atraía as sombras, elas sequer notavam. Tinha de ser sangue do outro, derramado por suas mãos – elas se lançariam primeiro sobre aquele que derramara o sangue. Claro que depois que essa pessoa estava morta elas com frequência não se importavam com quem matar a seguir. Uma vez enfurecidas, as sombras eram perigosas para todos aqueles por perto. Silêncio notou só depois de guardar a pólvora que William Ann estava vestida para a viagem, de calças e botas. Levava uma mochila como a de Silêncio. – O que acha que vai fazer, William Ann? – Você pretende matar sozinha cinco homens que tomaram apenas meia dose de fenweed, mãe? – Já fiz algo parecido antes. Aprendi a trabalhar sozinha. – Só porque não tinha ninguém mais para ajudá-la– retrucou William Ann, colocando a mochila no ombro. – Não é mais o caso. – Você é jovem demais. Volte para cama; cuide da pousada até eu voltar. William Ann permaneceu firme. – Criança. Eu lhe disse... – Mãe, você não é mais uma jovem! – retrucou William Ann, pegando o braço dela com firmeza. – Acha que não vejo que está mancando mais? Não pode fazer tudo sozinha! Vai ter de começar a me deixar ajudá-la um pouco, maldição! Silêncio encarou a filha. De onde vinha aquela ferocidade? Era difícil lembrar que William Ann também era uma Forescout. A avó ficaria desgostosa com ela, e isso deixava Silêncio orgulhosa. William Ann tivera uma infância de verdade. Não era fraca, era apenas... normal. Uma mulher podia ser forte sem ter as emoções de um tijolo. – Não diga palavras feias para sua mãe – ordenou Silêncio. William Ann ergueu uma sobrancelha. – Você pode vir – disse Silêncio, soltando o braço do aperto da filha. – Mas vai fazer o que eu mandar. William Ann expirou longamente, depois anuiu, ansiosa. – Vou avisar Dob que estamos indo. Ela saiu, adotando o passo lento natural de um sitiante ao mergulhar na escuridão. Embora estivesse dentro da proteção dos anéis de prata da pousada, ela sabia seguir as Regras Simples. Ignorá-las quando você estava em segurança levava a lapsos quando não estava. Silêncio pegou duas tigelas, depois misturou dois tipos diferentes de pasta de brilho. Quando terminou, colocou-as em potes diferentes, que guardou na mochila. Saiu para a noite. O ar era seco, frio. As Florestas estavam silenciosas. As sombras estavam à solta, claro. Algumas delas se moviam pelo terreno gramado, visíveis pelo próprio brilho suave. Etéreas e translúcidas, aquelas mais próximas no momento eram sombras velhas, mal retinham as formas de homens. As cabeças ondulavam, rostos mudando como anéis de fumaça. Arrastavam atrás delas ondas de brancura do comprimento de um braço. Silêncio sempre imaginara isso como restos esfarrapados de suas roupas. Nenhuma mulher, nem mesmo uma Forescout, olhava para sombras sem sentir um frio por dentro. As sombras circulavam durante o dia, claro; você apenas não conseguia vê-las. Acenda fogo, derrame sangue e elas se lançarão sobre você. À noite, porém, elas eram diferentes. Reagiam mais rapidamente a infrações. À noite também reagiam a movimentos rápidos, coisa que nunca faziam durante o dia. Silêncio tirou um dos potes de pasta de brilho, banhando a área ao redor dela numa luz verde clara. A luz era fraca, mas firme e constante, diferente da luz de archotes. Archotes não eram confiáveis, já que você não podia acendê-los de novo caso apagassem. William Ann esperava na frente com as varas de lanternas. – Precisamos nos mover em silêncio. Você pode falar, mas faça isso sussurrando. Eu disse que irá me obedecer. Irá, em todas as coisas, imediatamente. Esses homens que perseguiremos... eles a matarão, ou farão coisa pior, sem pensar duas vezes. William Ann anuiu. – Você não está assustada o suficiente – observou Silêncio, colocando uma coberta preta sobre o jarro com a pasta de luz mais brilhante. Isso as mergulhou na escuridão, mas o Cinturão de Estrelas estava alto no céu naquela noite. Um pouco da luz penetraria entre as folhas, especialmente se permanecessem perto da estrada. – Eu... – começou William Ann. – Lembra-se de quando o cão de Harold enlouqueceu primavera passada? – perguntou Silêncio. – Lembra da expressão nos olhos do cachorro? Nenhuma identificação? Olhos que ansiavam por matar? Bem, é isso que esses homens são, William Ann. Raivosos. Eles precisam ser abatidos, assim como aquele cachorro. Eles não a verão como uma pessoa. Eles a verão como carne. Você entende? William Ann concordou. Silêncio podia ver que ainda estava mais animada do que temerosa, mas não havia nada que pudesse fazer. Silêncio deu à filha a vara com a pasta de brilho mais escura. Tinha uma luz levemente azulada, mas não iluminava muito. Silêncio apoiou uma delas em um ombro, mochila no outro, depois apontou com a cabeça para a estrada. Perto dali, uma sombra vagou até o limite da pousada. Quando tocou a fina barreira de prata no chão, ela estalou com centelhas e empurrou a coisa para trás com um golpe repentino. A sombra flutuou em outra direção. Cada toque daqueles custava dinheiro a Silêncio. O toque de uma sombra destruía a prata. Era por isso que seus clientes pagavam: uma pousada cujos limites não eram rompidos havia mais de cem anos, com uma antiga tradição de que sombras indesejáveis não ficavam presas no interior. Paz, de algum tipo. A melhor que as Florestas ofereciam. William Ann cruzou o limite, que era marcado pela curva dos grandes arcos de prata se projetando do chão. Eles eram ancorados em concreto abaixo, de modo que você não podia arrancar um deles. Substituir um trecho de um dos anéis superpostos – Silêncio tinha três concêntricos cercando sua pousada – demandava cavar e liberar a seção. Era muito trabalho, que Silêncio conhecia a fundo. Não se passava uma semana em que não tivessem de fazer o rodízio ou substituir uma seção ou outra. A sombra próxima vagou para longe. Ela não as reconheceu. Silêncio não sabia se pessoas comuns eram invisíveis a elas até que as regras fossem violadas, ou se as pessoas não mereciam atenção até esse momento. Ela e William Ann foram para a estrada escura, que estava um tanto coberta de mato. Nenhuma estrada nas Florestas era bem cuidada. Talvez se os fortes um dia cumprissem suas promessas isso mudasse. Ainda assim, havia trânsito. Sitiantes viajando rumo a um forte ou outro para negociar comida. Os grãos cultivados nas clareiras da Floresta eram melhores e mais saborosos do que aquilo que podia ser produzido nas montanhas. Coelhos e perus capturados em armadilhas, ou criados em cercados, podiam ser vendidos por uma boa prata. Não porcos. Só alguém em um dos fortes seria tão grosseiro a ponto de comer um porco. De qualquer forma, havia comércio, e isso mantinha a estrada desobstruída, mesmo que as árvores ao redor tivessem uma tendência a projetar galhos para baixo – como braços ansiosos – para tentar cobrir o caminho. Tomá-lo de volta. As Florestas não gostavam que os homens as tivessem infestado. As duas mulheres caminharam cuidadosa e objetivamente. Nada de movimentos rápidos. Caminhando assim, pareceu se passar uma eternidade antes que algo aparecesse na estrada diante delas. – Ali! – sussurrou William Ann. Silêncio liberou a tensão expirando. Algo com um brilho azul marcava a estrada à luz da pasta de brilho. O palpite de Theopolis sobre como ela rastreava suas presas fora bom, mas incompleto. Sim, a luz da pasta conhecida como Fogo de Abraão fazia brilhar gotas de seiva de wetleek . Por coincidência, seiva de wetleek também soltava a bexiga do cavalo. Silêncio estudou a linha de seiva brilhante e urina no chão. Ela temera que Chesterton e seus homens entrassem nas Florestas logo depois de deixar a pousada. Isso não era provável, mas ainda assim temera. Naquele momento, ela tinha certeza de que achara a trilha. Se Chesterton entrasse nas Florestas, faria isso algumas horas depois de deixar a pousada, para estar mais certo de que seu disfarce estava em segurança. Fechou os olhos e deu um suspiro de alívio, depois se viu oferecendo mecanicamente uma prece de agradecimento. Hesitou. De onde viera aquilo? Muito tempo tinha se passado. Balançou a cabeça, levantou e avançou pela estrada. Ao drogar os cinco cavalos, ela conseguia uma sequência regular de marcas para seguir. As Florestas pareciam... escuras naquela noite. A luz do Cinturão de Estrelas acima aparentemente não passava pelos galhos tão bem quanto deveria. E dava a impressão de haver mais sombras que o normal, espreitando entre os troncos das árvores, brilhando muito levemente. William Ann agarrou a vara da lanterna. A criança já estivera do lado de fora à noite, claro. Nenhum sitiante ansiava por isso, mas tampouco se fugia disso. Você não podia passar a vida inteira trancado do lado de dentro, paralisado pelo medo da escuridão. Viva assim e... Bem, você não seria melhor do que as pessoas nos fortes. A vida nas Florestas era difícil, muitas vezes mortal. Mas também era livre. – Mãe – sussurrou Willian Ann enquanto caminhavam. – Por que não acredita mais em Deus? – Isso é hora para isso, menina? Wiliam Ann olhou para baixo quando elas passaram por outra linha de urina, um brilho azul na estrada.
– Você sempre diz alguma coisa assim. – E tento evitar a resposta – retrucou Silêncio. – Quando isso acontece, também não estou caminhando pelas Florestas à noite. – É que me parece importante agora, só isso. Você está errada sobre eu não estar com medo o suficiente. Eu mal consigo respirar, mas sei que a pousada tem problemas. Você sempre fica com muita raiva depois das visitas do mestre Theopolis. Você não muda nossa prata delimitadora com a frequência de antes. Em dias alternados, só come pão. – E acha que isso tem a ver com Deus? Por quê? William Ann continuava olhando para o chão. “Ah, pelas sombras”, pensou Silêncio. “Ela acha que estamos sendo punidas.” Garota tola. Tola como o pai. Elas passaram pela Velha Ponte, caminhando sobre as tábuas de madeira instáveis. Quando a luz era mais intensa, você ainda conseguia ver a madeira da Ponte Nova no abismo abaixo, representando as promessas dos fortes e seus presentes, que sempre pareciam belos, mas duravam pouco. O pai de Sebruki fora um dos que tinham ido recolocar a Velha Ponte. – Eu acredito no Deus Além – falou Silêncio quando chegaram do outro lado. – Mas... – Eu não o venero, mas isso não significa que não acredito. Os velhos livros chamavam esta terra de “lar dos condenados”. Duvido que veneração faça algum bem se você já está condenado. Apenas isso. William Ann não respondeu. Elas caminharam por mais duas horas. Silêncio pensou em tomar um atalho pela mata, mas o risco de perder a trilha e ter de voltar parecia grande demais. Aquelas marcas, brilhando num azul-esbranquiçado suave à luz invisível da pasta de brilho... Aquilo era algo real. Uma boia de luz nas sombras ao redor. Aquelas linhas representavam segurança para ela e suas filhas. Com as duas contando os momentos entre marcas de urina, não perderam o desvio por muito. Alguns minutos sem ver uma marca e elas retornaram sem uma palavra, examinando as laterais do caminho. Silêncio temera que essa fosse a parte mais difícil da caçada, mas elas descobriram com facilidade onde os homens tinham entrado nas Florestas. Uma marca de casco brilhante deu o sinal; um dos cavalos pisara na urina de outro na estrada antes de entrar nas Florestas. Silêncio baixou sua mochila e a abriu para pegar o garrote, depois levou um dedo aos lábios e fez um gesto para que William Ann esperasse na estrada. A garota concordou. Silêncio não conseguia ver muito de seus traços na escuridão, mas ouviu a respiração da garota acelerar. Ser uma sitiante e estar acostumada a sair à noite era uma coisa. Ficar sozinha nas Florestas... Silêncio pegou o pote de pasta de brilho azul e o cobriu com seu lenço. Depois tirou sapatos e meias e mergulhou na noite. Sempre que fazia isso, ela se sentia novamente uma menina, indo para as Florestas com o avô. Dedos dos pés na terra, sentindo folhas que estalassem ou ramos que partissem e a denunciassem. Ela quase podia ouvir a voz dele dando instruções, lhe dizendo como avaliar o vento e usar o som de folhas agitadas para disfarçar ao cruzar trechos barulhentos. Ela adorara as Florestas até o dia em que elas o levaram. “Nunca chame esta terra de inferno”, ele dissera. “Respeite a terra como respeitaria uma fera perigosa, mas não a odeie.” Sombras deslizaram pelas árvores próximas, quase invisíveis, não havendo nada para iluminá-las. Ela manteve distância, mas mesmo assim se virava e via uma das coisas passar por ela. Tropeçar numa sombra podia matar um homem, mas esse tipo de acidente era incomum. A não ser quando enfurecidas, as sombras se desviavam de homens que chegavam perto demais, como se sopradas por uma brisa suave. Desde que você se movesse lentamente – o que devia fazer –, ficaria bem. Ela mantinha o lenço ao redor do pote, a não ser quando queria especificamente conferir marcas próximas. Pasta de brilho iluminava sombras, e sombras que brilhassem demais poderiam denunciar sua aproximação. Houve um grunhido próximo. Silêncio ficou paralisada, o coração quase pulando do peito. Sombras não produziam ruído; aquilo havia sido um homem. Tensa, quieta, procurou até conseguir vê-lo, bem escondido no espaço vazio de um tronco. Ele se mexeu, massageando as têmporas. As dores de cabeça causadas pelo veneno de William Ann estavam atacando. Silêncio se esgueirou por trás da árvore. Agachou e esperou cinco dolorosos minutos até que se movesse. Ele ergueu a mão novamente, raspando nas folhas. Ela se lançou à frente e passou o garrote ao redor do pescoço, a seguir puxando com força. Estrangulamento não era a melhor forma de matar um homem nas Florestas. Era muito lento. O guarda começou a se agitar, levando as mãos à garganta. Sombras próximas pararam. Silêncio puxou com mais força. O guarda, enfraquecido pelo veneno, tentou empurrá-la para trás com as pernas. Ela deslizou para trás, ainda segurando firme, observando aquelas sombras. Olhavam ao redor como animais farejando o ar. Algumas começaram a se apagar, a própria leve luminescência natural murchando, suas formas passando de branco a preto. Não era um bom sinal. Silêncio sentiu sua pulsação acelerar por dentro. “Morra, maldito!” O homem parou de se sacudir, os movimentos se tornando mais letárgicos. Depois, tremeu uma última vez e ficou imóvel. Silêncio esperou ali por uma dolorosa eternidade, prendendo a respiração. As sombras próximas ficaram brancas novamente e se afastaram em direções incertas. Ela soltou o garrote, respirando de alívio. Depois de um tempo para se recompor, deixou o cadáver e se esgueirou de volta até onde William Ann estava. A garota a deixou orgulhosa; tinha se escondido tão bem que Silêncio não a viu até que sussurrou. – Mãe? – Sim – respondeu Silêncio. – Graças a Deus Além – disse William Ann, saindo do buraco onde havia se coberto com folhas. Segurou o braço da mãe, tremendo. – Você os encontrou? – Matei o vigia – disse Silêncio, anuindo. – Os outros quatro devem estar dormindo. É lá que irei precisar de você. – Estou pronta.
– Me siga. Elas pegaram o caminho que Silêncio tomara. Passaram pelo volume do cadáver do vigia, e William Ann o examinou sem demonstrar pena. – É um deles – sussurrou. – Eu o reconheço. – Claro que é um deles. – Eu só queria ter certeza. Já que nós... Você sabe. Elas encontraram o acampamento não muito depois do posto de guarda. Quatro homens em sacos de dormir adormecidos em meio às sombras como apenas alguém nascido na Floresta tentaria. Tinham colocado um pequeno pote de pasta de brilho no centro do acampamento, dentro de um buraco, para que não brilhasse demais e os denunciasse, mas havia luz suficiente para mostrar os cavalos amarrados a pequena distância do outro lado do acampamento. A luz verde também revelava o rosto de William Ann, e Silêncio ficou chocada de ver na expressão da garota não medo, mas uma raiva intensa. Ela aprendera rapidamente a ser uma irmã mais velha protetora para Sebruki. Ela, afinal, estava pronta para matar. Silêncio fez um gesto na direção do homem mais à direita, e William Ann concordou. Aquela era a parte perigosa. Com apenas meia dose, qualquer um daqueles homens ainda podia despertar com o barulho dos companheiros morrendo. A mãe se curvou sobre o primeiro homem. Ver o rosto adormecido dele causou um arrepio. Uma parte primal dela esperou, tensa, que aqueles olhos se abrissem de repente. Ergueu três dedos para William Ann depois os baixou um por um. Quando o terceiro dedo desceu, William Ann enfiou o saco na cabeça do homem. Enquanto ele se agitava, Silêncio bateu com força na têmpora com o martelo. O crânio rachou e a cabeça afundou um pouco. O homem se sacudiu uma vez, depois ficou flácido. Silêncio ergueu os olhos, tensa, observando os outros homens enquanto William Ann apertava o saco. As sombras próximas pararam, mas aquilo não chamou tanto a atenção delas quanto o estrangulamento. Desde que o revestimento de alcatrão do saco impedisse o sangue de vazar, elas estariam seguras. Silêncio acertou a cabeça do homem mais duas vezes, depois verificou a pulsação. Não havia nenhuma. Elas passaram para o homem seguinte na fila. Era um trabalho brutal, como abater animais. Ajudava pensar naqueles homens como selvagens, como dissera a William Ann mais cedo. Não ajudava pensar no que os homens fizeram a Sebruki. Isso a deixaria com raiva, e ela não podia se permitir sentir raiva. Precisava ser fria, silenciosa e eficiente. O segundo homem demandou mais algumas batidas na cabeça para ser morto, mas acordou mais lentamente que seu amigo. Fenweed deixava os homens grogues. Era uma droga excelente. Ela só precisava deles sonolentos, meio desorientados. E... O homem seguinte se sentou no saco de dormir. – O que... – perguntou numa voz pastosa. Silêncio saltou sobre ele, agarrando-o pelos ombros e jogando-o no chão.
Perto, sombras se viraram pelo barulho alto. Silêncio pegou seu garrote enquanto o homem se erguia na sua direção, tentando empurrá-la de lado, e William Ann engasgou de choque. Silêncio rolou, envolvendo o pescoço do homem. Puxou com força, lutando enquanto o homem se sacudia, agitando as sombras. Ela quase o matara quando o último homem pulou do saco de dormir. Em seu susto aturdido, ele escolheu fugir. Pelas sombras! O último era o próprio Chesterton. Se atraísse as sombras para si... Silêncio deixou o homem engasgado e abandonou a cautela, correndo atrás de Chesterton. Se as sombras o reduzissem a pó ela não teria nada. Não ter um cadáver para entregar significava nada de recompensa. As sombras ao redor do acampamento sumiram de vista enquanto Silêncio alcançava Chesterton, pegando-o no perímetro do acampamento, junto aos cavalos. Ela o derrubou pelas pernas, jogando no chão o homem grogue. – Sua piranha – insultou ele em voz pastosa, a chutando. – Você é a estalajadeira. Você me envenenou, sua piranha! Nas Florestas, as sombras se tornaram pretas. Olhos verdes irromperam em luz. Os olhos verdes seguiram a luz enevoada. Silêncio bateu no braço dele para afastá-lo enquanto Chesterton lutava. – Eu pagarei o que devo – defendeu-se ele, tentando agarrá-la. – Pagarei. Silêncio bateu com o martelo no braço dele, depois o baixou sobre seu rosto com um ruído de esmagamento. Arrancou o suéter enquanto ele gemia e se sacudia, conseguindo de algum jeito enrolá-lo na cabeça dele com o martelo. – William Ann! – berrou ela. – Preciso de um saco. Um saco, garota. Dê... William Ann se ajoelhou ao lado dela, colocando um saco sobre a cabeça de Chesterton enquanto o sangue encharcava o suéter. Silêncio esticou a mão agitada para o lado e pegou uma pedra, com a qual esmagou a cabeça dentro do saco. O suéter conteve os berros de Chesterton, mas também conteve a pedra. Ela teve de bater mais de uma vez. Ele ficou imóvel. William Ann apertou o saco sobre o pescoço para impedir que o sangue escorresse, a respiração acelerada. – Ah, Deus Além. Ah, Deus... Silêncio ousou erguer os olhos. Dezenas de olhos verdes pairavam na floresta, brilhando como pequenos fogos na escuridão. William Ann apertou os olhos e sussurrou uma oração, lágrimas correndo pelas faces. Silêncio foi para o lado dela e sacou a adaga de prata. Recordou de outra noite, outro mar de olhos verdes brilhantes. A última noite de sua avó. “Corra, menina! CORRA!” Naquela noite, correr era uma opção. Elas estavam perto da segurança. Mesmo assim, a avó não conseguira. Poderia ter conseguido, mas não conseguiu. Aquela noite aterrorizou Silêncio. O que a avó tinha feito. O que Silêncio tinha feito... Bem, esta noite ela só tinha uma esperança. Correr não as salvaria. A segurança estava longe demais. Devagar, afortunadamente, os olhos começaram a se apagar. Silêncio se sentou e deixou a faca de prata escorregar de seus dedos para o chão.
William Ann abriu os olhos. – Ah, Deus Além! – falou, enquanto as sombras sumiam de vista. – Um milagre. – Milagre, não – disse Silêncio. – Apenas sorte. Nós o matamos a tempo. Mais um segundo e elas teriam ficado furiosas. William Ann passara os braços ao redor do corpo. – Ah, pelas sombras. Ah, pelas sombras. Pensei que estávamos mortas. Ah, pelas sombras. De repente, Silêncio se lembrou de algo. O terceiro homem. Ela não terminara de estrangulá-lo antes de Chesterton correr. Levantou desajeitada, se virando. Ele estava caído lá, imóvel. – Eu acabei com ele – contou William Ann. – Tive de estrangulá-lo com minhas mãos. Minhas mãos... Silêncio olhou para ela. – Você agiu bem, menina. Provavelmente salvou nossas vidas. Se não estivesse aqui, eu nunca teria matado Chesterton sem enfurecer as sombras. A menina continuava olhando para a mata, observando as sombras serenas. – O que seria preciso? Para você ver um milagre em vez de uma coincidência? – Seria preciso um milagre, obviamente – respondeu Silêncio. – Em vez de apenas uma coincidência. Vamos lá. Vamos colocar um segundo saco nesses sujeitos. William Ann se juntou a ela, letárgica, enquanto ajudava a colocar sacos nas cabeças dos bandidos. Dois sacos cada, só por garantia. O sangue era o mais perigoso. Correr atraía sombras, mas lentamente. O fogo as enfurecia imediatamente, mas também as cegava e confundia. Sangue, porém... Sangue derramado com raiva, exposto ao ar livre... Uma só gota podia fazer com que as sombras os matassem, e depois tudo mais pela frente. Silêncio tentou ouvir batidas de coração em cada homem, só por garantia, mas eles estavam mortos. Elas selaram os cavalos, colocaram os corpos, incluindo o do vigia, nas selas, e os amarraram. Também pegaram os sacos de dormir e outros equipamentos. Com sorte, os homens teriam alguma prata. As leis da recompensa permitiam que Silêncio ficasse com o que encontrasse, desde que não houvesse referência específica a algo roubado. Naquele caso, os fortes só queriam Chesterton morto. Basicamente todo mundo queria. Silêncio apertou uma corda, depois parou. – Mãe! – disse William Ann, notando a mesma coisa. Folhas sendo agitadas nas Florestas. Elas tinham descoberto seu pote de pasta de brilho verde para somá-lo ao dos bandidos, então o pequeno acampamento estava bem iluminado enquanto um bando de oito homens e mulheres a cavalo cruzava as Florestas. Eles eram dos fortes. As roupas bonitas, o modo como continuavam a olhar para as sombras nas Florestas. Certamente pessoas da cidade. Silêncio se adiantou, desejando ter seu martelo para parecer pelo menos um pouco ameaçadora. Aquilo ainda estava amarrado dentro do saco ao redor da cabeça de Chesterton. Haveria sangue nele, então não poderia tirá-lo até que secasse ou ela estivesse em um lugar muito, muito seguro. – Ora, vejam isto – disse o homem à frente dos recém-chegados. – Não pude acreditar no que Tobias me disse quando voltou da missão de batedor, mas parece ser verdade. Todos os cinco homens da gangue de Chesterton, mortos por uma dupla de sitiantes da Floresta? – Quem são vocês? – perguntou Silêncio. – Red Young – se apresentou o homem, fazendo um gesto com o chapéu. – Estou rastreando esse bando há quatro meses. Não tenho como lhe agradecer o bastante por cuidar deles para mim. Ele acenou para alguns membros do grupo, que desmontaram. – Mãe! – sibilou William Ann. Silêncio estudou os olhos de Red. Estava armado com um porrete, e uma das mulheres atrás dele tinha uma das novas bestas com pontas cegas. Elas disparavam rápido e acertavam com força, mas não derramavam sangue. – Afaste-se dos cavalos, menina – mandou Silêncio. – Mas... – Afaste-se – repetiu Silêncio, largando a corda do cavalo que conduzia. Três pessoas do forte recolheram as cordas, um dos homens lançando um olhar sobre William Ann. – Você é inteligente – falou Red, se inclinando e estudando Silêncio. Uma de suas mulheres passou, conduzindo o cavalo de Chesterton com o cadáver do homem jogado sobre a sela. Silêncio se adiantou, pousando a mão na sela de Chesterton. A mulher que o conduzia parou, depois olhou para o chefe. Silêncio tirou a faca da bainha. – Você vai nos dar alguma coisa – negociou Silêncio a Red, a mão da faca escondida. – Depois do que fizemos. Um quarto, e não dizemos nada. – Claro – retrucou ele, inclinando o chapéu na sua direção. Tinha um sorriso falso, como numa pintura. – Será um quarto. Silêncio concordou. Ela colocou a faca sobre uma das cordas finas que prendiam Chesterton à sela. Isso produziu um belo corte à medida que a mulher levava o cavalo para longe. Silêncio recuou, pousando a mão no ombro de William Ann ao mesmo tempo que recolocava a faca na bainha disfarçadamente. Red inclinou o chapéu na direção dela novamente. Em instantes os caçadores de recompensas tinham partido pelas árvores na direção da estrada. – Um quarto? – sibilou William Ann. – Acha que ele irá pagar isso? – Dificilmente – respondeu Silêncio, pegando sua mochila. – Temos sorte de ele não ter nos matado. Venha. Ela entrou nas Florestas. William Ann caminhou com ela, ambas se movendo com os passos cuidadosos que as Florestas exigiam. – Acho que é hora de você retornar à pousada, William Ann. – E o que você vai fazer? – Recuperar nossa recompensa – respondeu. Ela era uma Forescout, maldição. Nenhum homem do forte afetado iria roubar dela. – Quer dizer interceptá-los no trecho branco, presumo. Mas o que irá fazer?
Não podemos lutar contra tantos, mãe. – Vou descobrir um jeito. Aquele cadáver significava liberdade – vida – para suas filhas. Ela não iria deixar aquilo escapar, como fumaça por entre os dedos. Elas entraram na escuridão, passando por sombras que, pouco tempo antes, estavam quase prontas para ressecá-las. Naquele momento, os espíritos foram embora, ignorando a carne que passava por eles. “Pense, Silêncio. Há alguma coisa muito errada aqui.” Como aqueles homens tinham encontrado o acampamento? A luz? Teriam ouvido ela e William Ann conversando? Eles alegaram estar caçando Chesterton havia meses. Não deveria ter ouvido falar deles antes daquele momento? Aqueles homens e mulheres pareciam limpos demais, novos demais para ter passado meses nas Florestas rastreando assassinos. Isso a levou a uma conclusão que não queria admitir. Alguém sabia que ela estava caçando uma recompensa naquele dia, e vira como planejava rastrear Chesterton. Um homem tinha motivo para que aquela recompensa fosse roubada dela. “Theopolis, eu espero estar errada”, ela pensou. “Porque se você estiver por trás disto...” Silêncio e William Ann avançaram pelas entranhas da Floresta, um lugar onde a faminta cobertura vegetal acima absorvia toda a luz, deixando nu o solo abaixo. Eles permaneceriam nas estradas, essa era a vantagem dela. As Florestas não eram amigas de um sitiante, não mais que uma fenda conhecida era uma queda menos perigosa. Mas Silêncio era uma veterana naquele abismo. Sabia cavalgar seus ventos melhor que qualquer morador do forte. Talvez fosse hora de produzir uma tempestade. O que os sitiantes chamavam de “trecho branco” era uma parte da estrada margeada por campos de cogumelos. Demorava cerca de uma hora pelas Florestas para alcançar o trecho, e quando chegou Silêncio estava sentindo o preço de uma noite sem sono. Ignorou a fadiga ao cruzar o campo de cogumelos, erguendo seu pote de luz verde e lançando um brilho fraco sobre árvores e tocas na terra. A estrada fazia uma curva nas florestas, depois prosseguia naquela direção. Se os homens estavam indo para Lastport ou algum dos outros fortes próximos, iriam naquela direção. – Você segue em frente – disse Silêncio a William Ann. – É só mais uma hora de caminhada de volta até a pousada. Veja como as coisas estão lá. – Eu não vou deixá-la, mãe. – Você prometeu obedecer. Quebraria sua palavra? – E você prometeu me deixar ajudar. Quebraria a sua? – Não preciso de você para isso. E será perigoso. – O que vai fazer? Silêncio parou ao lado da estrada e se ajoelhou, revirando a mochila. Tirou o pequeno barril de pólvora. William Ann ficou branca como os cogumelos. – Mãe!
Silêncio desamarrou o acendedor da avó. Ela não tinha certeza se ainda funcionava. Nunca ousara apertar os dois braços metálicos, que pareciam pinças. Se apertasse, as pontas raspariam uma na outra, produzindo fagulhas, e uma mola na articulação as mantinha afastadas. Silêncio ergueu os olhos para a filha, depois segurou o acendedor ao lado da cabeça. William Ann recuou, depois olhou para os lados, na direção de sombras próximas. – As coisas estão tão ruins assim? – perguntou a garota num sussurro. – Quero dizer, para nós? Silêncio anuiu. – Então, tudo bem. Garota tola. Bem, Silêncio não a mandaria embora. A verdade era que provavelmente iria precisar de ajuda. Ela pretendia pegar aquele cadáver. Corpos são pesados, e de modo algum conseguiria cortar o cadáver e levar apenas a cabeça, não nas Florestas, com sombras ao redor. Enfiou a mão na mochila, tirando o material de primeiros socorros. O material estava amarrado entre duas pequenas placas, que podiam ser usadas como talas. Não foi difícil amarrar as duas placas dos dois lados do acendedor. Usou a colher de pedreiro para cavar um pequeno buraco na terra macia da estrada, mais ou menos do tamanho do barril de pólvora. Depois abriu a tampa do barril e o enfiou no buraco. Encharcou seu lenço no óleo da lamparina, enfiou uma ponta no barril, em seguida colocou as placas do acendedor na estrada com a ponta do lenço junto às cabeças que produziam faíscas. Após cobrir o artefato com folhas, ela tinha uma armadilha rudimentar. Se alguém pisasse na placa de cima, isso iria apertar a haste e produzir faíscas para acender o lenço. Com sorte. Ela não podia acender o fogo ela mesma. As sombras se lançariam primeiro sobre aquele que o atiçou. – O que acontece se eles não pisarem naquilo? – perguntou William Ann. – Então nós o transferimos para outro ponto da estrada e tentamos novamente – respondeu Silêncio. – Você sabe que isso irá derramar sangue. Silêncio não respondeu. Se a armadilha fosse detonada por uma pisada, as sombras não veriam Silêncio como a responsável. Iriam se lançar sobre aquele que detonou a armadilha. Mas, se sangue fosse derramado, elas ficariam enfurecidas. E então não faria diferença quem havia causado aquilo. Todos estariam em perigo. – Ainda nos restam horas de escuridão – disse Silêncio. – Cubra sua pasta de brilho. William Ann concordou, cobrindo seu pote. Silêncio inspecionou sua armadilha de novo, depois pegou William Ann pelo ombro e a puxou para a lateral da estrada. A vegetação rasteira era mais densa ali, já que a estrada tendia a seguir por aberturas na cobertura vegetal. Os homens buscavam lugares nas Florestas onde pudessem ver o céu. Os homens chegaram. Silenciosos, cada um iluminado por um pote de pasta de brilho. As pessoas do forte não falavam à noite. Passaram pela armadilha, que Silêncio colocara no trecho mais estreito da estrada. Ela prendeu a respiração, observando a passagem dos cavalos, cada passo errando a protuberância que marcava a placa. William Ann cobriu os ouvidos, se encolhendo. Um casco acertou a armadilha. Nada aconteceu. Silêncio soltou o ar, aborrecida. O que ela faria se o acendedor estivesse quebrado? Será que poderia descobrir outro modo de... A explosão a atingiu, a onda de choque sacudindo seu corpo. Sombras desapareceram num piscar de olhos, olhos verdes de abrindo. Cavalos empinaram e relincharam, homens gritando. Silêncio superou sua estupefação, agarrando William Ann pelo ombro e a tirando do esconderijo. Sua armadilha funcionara melhor do que ela imaginara; o trapo incendiado permitira que o cavalo que detonara a armadilha desse alguns passos antes da explosão. Nenhum sangue, apenas muitos cavalos surpresos e homens confusos. O pequeno barril de pólvora não fizera tanto estrago quanto previra – as histórias sobre o que a pólvora podia fazer muitas vezes eram tão fantasiosas quanto as sobre a Terra Natal –, mas o som fora incrível. Os ouvidos de Silêncio zumbiam enquanto ela passava em meio aos homens confusos, encontrando o que esperara ver. O cadáver de Chesterton estava caído no chão, derrubado da sela por um cavalo empinado e uma corda enfraquecida. Pegou o cadáver pelos braços, e William Ann segurou as pernas. Elas se moveram de lado para dentro das Florestas. – Idiotas! – berrou Red em meio à confusão. – Detenham-na! É... Ele se interrompeu quando sombras tomaram a estrada, se lançando sobre os homens. Red havia conseguido manter o cavalo sob controle, mas naquele momento precisava afastá-lo das sombras. Enfurecidas, elas tinham se tornado pretas, embora a explosão de luz e fogo as tivesse deixado tontas. Elas circularam, como mariposas ao redor de uma chama. Olhos verdes. Uma pequena bênção. Se ficassem vermelhos... Um caçador de recompensas, de pé na estrada, girando, foi atingido. Suas costas se curvaram, ramificações de veias pretas cruzando sua pele. Ele caiu de joelhos, gritando enquanto a carne de seu rosto se encolhia sobre o crânio. Silêncio deu as costas. William Ann olhou para o homem caído com uma expressão horrorizada. – Devagar, menina – orientou Silêncio, com o que esperava ser uma voz reconfortante. Ela mesma mal se sentia reconfortada. – Com cuidado. Podemos nos afastar delas. William Ann. Olhe para mim. A garota se virou para olhar para ela. – Fique olhando nos meus olhos. Mova-se. Isso mesmo. Lembre-se, as sombras irão para a fonte do fogo. Elas estão confusas, chocadas. Não conseguem sentir cheiro de fogo como conseguem sentir de sangue e irão procurar as fontes mais próximas de movimento rápido. Devagar, serenamente. Deixe que os homens agitados as distraiam. As duas entraram nas Florestas com uma objetividade excruciante. Diante de tanto caos, de tanto perigo, o ritmo delas parecia um arrasto. Red organizou a resistência. Sombras enlouquecidas pelo fogo podiam ser combatidas, destruídas, com prata. Muitas mais viriam. Mas se os homens fossem inteligentes e tivessem sorte, conseguiriam destruir as mais próximas e depois se afastar da fonte do fogo. Eles podiam se esconder, sobreviver. Talvez. A não ser que um deles acidentalmente derramasse sangue. Silêncio e William Ann cruzaram o campo de cogumelos que brilhavam como crânios de ratos e se partiam silenciosamente sob seus pés. A sorte não estava com elas, pois à medida que as sombras saíam da desorientação causada pela explosão, duas delas na periferia se viraram e atacaram as mulheres em fuga. William Ann engasgou. Silêncio pousou os ombros de Chesterton, depois sacou a faca. – Continue em frente – sussurrou ela. – Tire-o daqui. Lentamente, menina. Lentamente. – Não vou deixar você! – Eu alcanço você – disse Silêncio. – Você não está pronta para isto. Ela não olhou para ver se William Ann obedeceu, pois as sombras – figuras retintas disparando pelo solo de bolas brancas – estavam sobre ela. Força não fazia sentido contra sombras. Elas não tinham substância real. Apenas duas coisas importavam: mover-se e não ficar assustada. Sombras eram perigosas, mas desde que você tivesse prata, podia lutar. Muitos homens morreram por correr, atraindo ainda mais sombras, em vez de manter posição. Silêncio atacou as sombras assim que chegaram a ela. “Você quer levar minha filha para o inferno?”, pensou, rosnando. “Deveria ter tentado a sorte com os homens da cidade em vez dela.” Passou a faca pela primeira sombra, como a avó ensinara. “Nunca se encolha e mostre covardia diante de sombras. Você tem sangue Forescout. Você reivindicou as Florestas. Você é uma criatura delas tanto quanto qualquer outro. Assim como eu...” A faca passou pela sombra com uma leve sensação de contato, criando uma chuva de centelhas brancas brilhantes que jorrou da sombra. A sombra recuou, suas veias pretas se enrolando umas nas outras. Silêncio atacou a outra. O céu escuro só permitia que visse os olhos da coisa, um verde horrendo, chegando até ela. Ela se lançou à frente. Suas mãos espectrais estavam sobre ela, o frio gelado de seus dedos agarrando o braço abaixo do cotovelo. Ela podia sentir. Dedos de sombras tinham substância, eles podiam agarrar você, segurá-lo. Apenas a prata os afastava. Apenas com prata você podia lutar. Enfiou mais o braço. Fagulhas dispararam das costas dela, se espalhando como água de lavagem sendo jogada de um balde. Silêncio engasgou com a horrenda dor gelada. Sua faca escorregou de dedos que já não conseguiam sentir. Tombou para frente, caindo de joelhos enquanto a segunda sombra caía para trás, depois começando a girar numa espiral enlouquecida. A primeira sacudia no chão como um peixe moribundo, tentando se levantar, mas sua metade superior tombou. O frio em seu braço era cortante. Ela olhou para o braço ferido, vendo a pele de sua mão secar, colando no osso.
Ela ouviu choro. “Você fica aqui, Silêncio.” A voz da avó. Lembranças da primeira vez em que matara uma sombra. “Faça como eu digo. Nada de lágrimas! Forescouts não choram. Forescouts NÃO CHORAM.” Ela aprendera a odiá-la naquele dia. Dez anos de idade, com sua pequena faca, tremendo e chorando na noite, depois que a avó a trancara com uma sombra perdida em um anel de poeira de prata. A avó correra ao redor do perímetro, a encorajando com movimentos. Enquanto Silêncio estava presa lá. Com a morte. “A única forma de aprender é fazendo, Silêncio. E irá aprender, de um modo ou de outro!” – Mãe! – disse William Ann. Silêncio piscou, saindo das lembranças enquanto a filha jogava poeira de prata no braço exposto. O ressecamento parou enquanto William Ann, engasgando com lágrimas grossas, derramava toda a bolsa de prata de emergência sobre a mão. O metal reverteu o ressecamento, e a pele ficou rosada novamente, a escuridão se dissolvendo em fagulhas brancas. “Demais”, pensou Silêncio. Na pressa, William Ann usara toda a poeira de prata, muito mais do que um ferimento precisava. Era difícil ficar com raiva, pois o tato retornou à sua mão e o frio gelado sumiu. – Mãe? – perguntou William Ann. – Eu a deixei, como você disse. Mas ele era tão pesado que não consegui ir longe. Voltei para você. Desculpe. Eu voltei para você! – Obrigada – disse Silêncio, respirando. – Você fez bem. Ela esticou a mão e segurou a filha pelo ombro, depois usou a mão antes ressecada para procurar na grama a faca da avó. Quando a encontrou, a lâmina estava escurecida em diversos pontos, mas ainda boa. Na estrada, os homens da cidade haviam formado um círculo e detinham as sombras com lanças de ponta de prata. Os cavalos fugiram ou foram consumidos. Silêncio procurou no chão e encontrou um pequeno punhado de pó de prata. O resto havia sido consumido na cura. Demais. “Não adianta se preocupar com isso agora”, pensou ela, enfiando o punhado de pó no bolso. – Venha – disse, se colocando de pé. – Lamento nunca tê-la ensinado a lutar contra elas. – Sim, você ensinou – disse William Ann, limpando as lágrimas. – Você me contou tudo sobre isso. Contei. Nunca mostrei. “Pelas sombras, vovó. Sei que a desapontei, mas não farei isso com ela. Não posso. Mas sou uma mãe boa. Eu irei protegê-las.” As duas saíram dos cogumelos, pegando novamente seu prêmio medonho e avançando pelas Florestas. Passaram por mais sombras escuras flutuando na direção da luta. Todas aquelas faíscas iriam atraí-las. Os homens da cidade estavam mortos. Atenção demais, luta demais. Eles estariam com mil sombras sobre eles antes que se passasse uma hora. Silêncio e William Ann se moviam lentamente. Embora o frio tivesse se retirado da mão de Silêncio, havia um persistente... Algo. Um tremor fundo. Um membro tocado pelas sombras não parecia bem por meses. Isso era muito melhor do que poderia ter sido. Sem o raciocínio rápido de William Ann, Silêncio teria se tornado uma aleijada. Assim que o ressecamento se instalava – isso demorava algum tempo, embora variasse –, era irreversível. Algo fez ruído na mata. Silêncio ficou paralisada, fazendo com que William Ann parasse e olhasse ao redor. – Mãe? – sussurrou William Ann. Silêncio franziu o cenho. A noite estava muito escura, e elas foram forçadas a abandonar suas luzes. “Há alguma coisa ali”, pensou, tentando penetrar a escuridão com os olhos. “O que é você? Deus Além, proteja-as caso a luta tenha atraído um dos Mais Profundos.” O som não se repetiu. Relutantemente, Silêncio avançou. Elas caminharam uma boa hora, e na escuridão Silêncio não se dera conta de que havia se aproximado novamente da estrada até se depararem com ela. Ela expirou, colocando seu fardo no chão e torcendo os braços cansados nas articulações. Um pouco de luz do Cinturão de Estrelas chegava até elas, iluminando algo como um grande maxilar à esquerda. A Antiga Ponte. Estavam quase em casa. As sombras ali não estavam sequer agitadas; elas circulavam com seus movimentos preguiçosos de borboleta. Os braços dela doíam muito. Aquele corpo parecia estar ficando mais pesado a cada momento. Os homens não se davam conta de quão pesado era um cadáver. Silêncio se sentou. Elas iriam descansar um pouco antes de continuar. – William Ann, ainda tem alguma água em seu cantil? William Ann gemeu. Silêncio se assustou e levantou. A filha estava de pé ao lado da ponte e havia algo escuro atrás dela. Um brilho verde de repente iluminou a noite quando a figura tirou um pequeno frasco de pasta de brilho. Com aquela luz doentia, Silêncio pôde ver que a figura era Red. Segurava um punhal sobre o pescoço de William Ann. O homem da cidade não saíra bem da luta. Um olho era de um branco leitoso, metade do rosto estava escurecida, os lábios recuavam dos dentes. Uma sombra o acertara no rosto. Ele tinha sorte de estar vivo. – Imaginei que você voltaria por este caminho – falou ele, as palavras saindo arrastadas por seus lábios ressecados. Saliva escorria do seu queixo. – Prata. Me dê sua prata. A faca dele... Era de aço comum. – Agora! – rugiu ele, aproximando mais a faca do pescoço de William Ann. Se a beliscasse, as sombras estariam sobre eles num átimo. – Eu só tenho a faca – mentiu Silêncio, tirando-a e jogando no chão diante dele. – É tarde demais para seu rosto, Red. Esse ressecamento já se instalou. – Não ligo. Agora o corpo. Afaste-se dele, mulher. Fora! Silêncio se colocou de lado. Será que conseguiria chegar a ele antes que matasse William Ann? Ele teria de pegar aquela faca. Se ela pulasse no mesmo momento... – Você matou meus homens – rosnou Red. – Eles estão mortos, todos eles. Deus, se eu não tivesse rolado para dentro do buraco... Eu tive de escutar aquilo.
Escutar enquanto eles eram massacrados! – Você foi o único inteligente. Não teria conseguido salvá-los, Red. – Piranha! Você os matou. – Eles se mataram – sussurrou ela. – Você vem às minhas Florestas, pegar o que é meu? Era seus homens ou minhas filhas, Red. – Bem, se quer que sua filha sobreviva a isso, vai ficar imóvel. Garota, pegue aquela faca. Choramingando, William Ann se ajoelhou. Red a imitou, ficando logo atrás, observando Silêncio, segurando a faca com firmeza. William Ann pegou a faca com mãos trêmulas. Red tirou a faca de prata das mãos de William Ann, depois a segurou com uma das mãos, a faca comum na outra, junto ao pescoço. – Agora a garota vai carregar o cadáver, e você vai esperar bem aqui. Não quero você chegando perto. – Claro – disse Silêncio, já planejando. Ela não podia atacar naquele instante. Ele estava cauteloso demais. Ela seguiria pelas Florestas, ao lado da estrada, e esperaria um momento de fraqueza. Então atacaria. Red cuspiu para o lado. Então, uma seta almofadada de besta voou pela noite e o atingiu no ombro, desequilibrando-o. A lâmina deslizou pelo pescoço de William Ann, e uma gota de sangue escorreu. Os olhos da garota se arregalaram de terror, embora fosse pouco mais que um arranhão. O risco à sua garganta não era importante. O sangue era. Red cambaleou para trás, engasgando, mão no ombro. Algumas gotas de sangue brilhavam em sua faca. As sombras nas Florestas ao redor deles ficaram pretas. Olhos verdes reluzentes se iluminaram, depois ganharam um tom carmim. Olhos vermelhos na noite. Sangue no ar. – Ah, inferno! – berrou Red. – Ah, inferno. Olhos vermelhos enxamearam ao redor dele. Não houve hesitação, nenhuma confusão. Eles foram diretamente sobre aquele que derramara sangue. Silêncio estendeu a mão na direção da William Ann enquanto as sombras se lançavam. Red agarrou a garota e a jogou sobre uma sombra, tentando detê-la. Ele deu meia-volta e disparou na outra direção. William Ann passou pela sombra, o rosto ressecando, a pele recuando no queixo e ao redor dos olhos. Tropeçou pela sombra e caiu nos braços de Silêncio. Silêncio sentiu um imediato pânico esmagador. – Não! Criança, não. Não. Não... William Ann moveu a boca, fazendo um som de engasgo, os lábios recuando sobre os dentes, olhos arregalados enquanto a pele recuava e as pálpebras ressecavam. “Prata. Eu preciso de prata. Eu posso salvá-la.” Silêncio jogou a cabeça para cima, agarrando William Ann. Red correu pela estrada, brandindo a adaga de prata, espalhando luz e faíscas. Sombras o cercavam. Centenas, como corvos sobre um criadouro. Não assim. As sombras logo acabariam com ele, e procurariam carne – qualquer carne. William Ann ainda tinha sangue no pescoço. Elas se lançariam sobre ela depois. Mesmo assim, a garota estava ressecando rapidamente. A adaga não seria suficiente para salvar William Ann. Silêncio precisava de pó, pó de prata para empurrar pela garganta da filha. Silêncio enfiou a mão no bolso, pegando o pequeno punhado de prata lá. Muito pouco. Ela sabia que seria muito pouco. O treinamento da avó acalmou sua mente, e tudo ficou imediatamente claro. A pousada estava perto. Ela tinha mais prata lá. – Mã-mãe... Silêncio tomou William Ann nos braços. Leve demais, a pele secando. Depois se virou e correu, atravessando a ponte à toda. Seus braços doíam, enfraquecidos por ter carregado o cadáver até lá. O cadáver... Ela não podia perdê-lo. Não. Ela não podia pensar naquilo. As sombras ficariam com ele, como carne suficientemente quente, logo após Red ter partido. Não haveria recompensa. Ela tinha de se concentrar em William Ann. As lágrimas de Silêncio eram frias no rosto enquanto ela corria, o vento soprando. A filha estremecia e tremia em seus braços, tendo espasmos enquanto morria. Ela iria se tornar uma sombra se morresse assim. – Não vou perder você! – falou Silêncio na noite. – Por favor. Eu não vou perder você... Atrás dela, Red soltou um longo berro de agonia que morreu de repente enquanto as sombras se banqueteavam. Perto dela, outras sombras se detiveram, olhos ficando vermelhos. Sangue no ar. Olhos carmim. – Eu odeio você – sussurrou Silêncio no ar enquanto corria. Cada passo era uma agonia. Ela estava ficando velha. – Eu odeio você! O que fez comigo. O que fez conosco. Ela não sabia se estava falando com a avó ou com o Deus Além. Com grande frequência eles eram um só em sua cabeça. Será que já tinha se dado conta disso antes? Galhos batiam nela enquanto avançava. Seria aquela luz à frente? A pousada? Centenas e mais centenas de olhos vermelhos se abriam à sua frente. Ela caiu no chão, exausta, William Ann como um pesado fardo de galhos em seus braços. A garota tremia, os olhos rolando para trás em sua cabeça. Silêncio pegou a pouca poeira de prata que tinha recuperado mais cedo. Ansiava por jogá-la em William Ann, reduzir um pouco a dor, mas sabia que era um desperdício. Baixou os olhos, chorando, depois pegou o bocado e fez um pequeno círculo ao redor das duas. O que mais podia fazer? William Ann sacudia em uma convulsão, enquanto inspirava roucamente e agarrava os braços de Silêncio. As sombras chegaram às dúzias, se juntando ao redor das duas, farejando o sangue. A carne. Silêncio puxou a filha para perto. Deveria ter tentado pegar a faca; isso não iria curar William Ann, mas ela pelo menos poderia ter lutado com aquilo.
Sem aquilo, sem nada, ela fracassara. A avó sempre estivera certa. – Calma agora, minha querida... – sussurrou Silêncio, apertando os olhos com força. – Não tenha medo. Sombras tocaram sua frágil barreira, lançando faíscas, fazendo Silêncio abrir os olhos. Elas recuaram, então outras vieram, se chocando contra a prata, os olhos vermelhos iluminando formas pretas que se contorciam. – A noite cai sobre nós – sussurrou Silêncio, engasgando com as palavras. – Mas a luz do sol vai nascer. William Ann arqueou as costas, depois ficou imóvel. – Durma agora... Minha... minha querida... Enxugue as lágrimas. A escuridão nos cerca, mas um dia... Iremos acordar. – “Não deveria ter deixado que ela viesse.” Se não tivesse, Chesterton teria escapado, e ela teria sido morta pelas sombras. William Ann e Sebruki teriam se tornado escravas de Theopolis, ou pior. Nenhuma escolha. Nenhuma saída. – Por que nos mandou aqui? – gritou ela, olhando para além de centenas de olhos vermelhos brilhantes. – Qual o sentido? Não houve resposta. Nunca havia resposta. Sim, aquilo era luz à frente; ela podia ver através dos galhos de árvore baixos à sua frente. Ela só estava a alguns metros da pousada. Ela iria morrer, como a avó morrera, a passos de sua casa. Ela piscou, embalando William Ann à medida que a fina barreira de prata falhava. Aquilo... Aquele galho logo à sua frente. Tinha uma forma muito esquisita. Comprido, fino, sem folhas. Não parecia em nada com um galho. Em vez disso, como... Como uma seta de besta. Ela ficou cravada na árvore após ter sido disparada da pousada mais cedo naquele dia. Ela se lembrava de olhar para aquela seta mais cedo, para sua ponta reflexiva. Prata.
Silêncio Montane passou pela porta dos fundos da pousada carregando atrás um corpo ressecado. Chegou à cozinha, mal conseguindo caminhar, e largou a seta de ponta de prata com uma mão ressecada. Sua pele continuava a recuar, seu corpo enrugando. Ela não tinha conseguido evitar o ressecamento, não ao lutar contra tantas sombras. A seta da besta abrira caminho, permitindo que avançasse numa última investida frenética. Mal conseguia ver. Lágrimas escorriam de olhos nublados. Mesmo com as lágrimas, seus olhos pareciam secos como se tivessem passado uma hora arregalados ao vento. Suas pálpebras se recusavam a piscar, e ela mal conseguia mover os lábios. Ela tinha... Pó. Não tinha? Pensamento. Mente. O quê? Ela se moveu sem pensar. Pote no parapeito da janela. Para o caso de um círculo quebrado. Ela soltou a tampa com dedos que pareciam palitos. Vê-los horrorizou uma parte distante de sua mente. “Morrendo. Eu estou morrendo.” Ela afundou o pote de pó de prata na cisterna e o tirou, depois cambaleou até William Ann. Caiu de joelhos ao lado da garota, derramando muito da água. O resto ela jogou no rosto da filha com um braço trêmulo. “Por favor. Por favor.” Escuridão.
– Fomos mandados aqui para sermos fortes – explicou a avó, de pé na beirada do penhasco debruçado sobre as águas. Seu cabelo branco voava ao vento, retorcendo, como os fiapos de uma sombra. Ela se virou de volta para Silêncio, e seu rosto envelhecido estava coberto de gotas d’água das ondas quebrando abaixo. – O Deus Além nos mandou. Isso é parte do plano. – É muito fácil para você dizer isso, não é? – devolveu Silêncio. – Você consegue encaixar qualquer coisa nesse plano nebuloso. Até mesmo a destruição do próprio mundo. – Não vou ouvir suas blasfêmias, criança – disse ela, uma voz como botas pisando em cascalho. Caminhou na direção de Silêncio. – Você pode vociferar contra o Deus Além, mas isso não mudará nada. William era um tolo e um idiota. Você está melhor. Nós somos Forescouts. Nós sobrevivemos. Seremos nós a derrotar o Mal, um dia. Ela passou por Silêncio. Silêncio nunca vira um sorriso na avó. Não desde a morte do marido. Sorrir era desperdício de energia. E amor... Amor era para as pessoas na Terra Natal. As pessoas que não tinham sucumbido ao Mal. – Eu estou grávida – contou Silêncio. A avó parou. – William? – Quem mais? A avó voltou a andar. – Sem condenações? – perguntou Silêncio, se virando e cruzando os braços. – Está feito – respondeu a avó. – Somos Forescouts. Se é assim que temos de continuar, que seja. Estou mais preocupada com a pousada, fazer os pagamentos aos malditos fortes. “Eu tenho uma ideia para isso”, pensou Silêncio, considerando as listas de recompensas que ela começara a colecionar. “Algo que nem mesmo você ousaria. Algo perigoso. Algo inimaginável.” A avó chegou à mata e olhou para Silêncio com uma expressão feia, depois colocou o chapéu e seguiu por entre as árvores. – Não vou permitir que você interfira com meu filho – gritou Silêncio para ela. – Eu vou criar os meus como quiser! A avó desapareceu nas sombras. “Por favor. Por favor.”
– Eu vou! “Não vou perder você. Não vou...”
Silêncio engasgou, despertando e agarrando as tábuas do piso, olhando para cima. Viva. Ela estava viva! Dob, o ajudante do estábulo, estava ajoelhado ao seu lado, segurando o jarro de pó de prata. Ela tossiu e levou os dedos – roliços, a carne recuperada – ao pescoço. Ele estava curado, embora irritado pelos flocos de prata que foram empurrados pela sua garganta. Sua pele estava coberta de pedaços pretos de prata destruída. – William Ann! – disse ela, se virando. A criança estava caída no chão ao lado da porta. O lado esquerdo de William Ann, que tocara a sombra primeiro, estava escurecido. O rosto não estava ruim demais, mas a mão era um esqueleto ressecado. Teriam de amputar aquilo. A perna também parecia ruim. Silêncio não podia dizer quão grave estava sem cuidar dos ferimentos. – Ah, criança – falou Silêncio, ajoelhando ao lado dela. Mas a garota respirava, era o suficiente, considerando tudo. – Eu tentei – argumentou Dob. – Mas você já tinha feito o que podia ser feito. – Obrigada. – Silêncio se virou para o homem envelhecido, de testa alta e olhos embotados. – Você pegou? – perguntou Dob. – Quem? – A recompensa. – Eu... Sim, peguei. Mas tive de deixar. – Você encontrará outro – disse Dob em tom indistinto, ficando de pé. – Raposa sempre encontra. – Há quanto tempo você sabe? – Eu sou idiota, madame. Não um tolo. Ele curvou a cabeça para ela, depois foi embora, costas curvadas como sempre. Silêncio ficou de pé, depois gemeu ao pegar William Ann. Levou a filha até os quartos acima e cuidou dela. A perna não estava tão ruim quanto temera. Alguns dos dedos seriam perdidos, mas o pé propriamente dito estava saudável. Todo o lado esquerdo do corpo de William Ann estava escuro, como se queimado. Aquilo com o tempo iria desbotar para cinza. Todos que a vissem saberiam o que havia acontecido. Muitos homens nunca tocariam nela, temendo sua contaminação. Isso poderia condená-la a uma vida solitária. “Eu sei um pouco sobre uma vida assim”, pensou Silêncio, mergulhando um pano na lata d’água e lavando o rosto de William Ann. A jovem dormiria o dia inteiro. Tinha chegado muito perto da morte, de se tornar uma sombra ela mesma. O corpo não se recuperava rapidamente disso. Claro que Silêncio também chegara perto. Ela, porém, já estivera lá antes.
Outro dos preparativos da avó. Ah, como ela odiava aquela mulher. Silêncio devia o que era ao treinamento que a endurecera. Será que ela podia ser grata à avó e odiá-la ao mesmo tempo? Silêncio terminou de lavar William Ann, depois colocou nela uma camisola macia e a deixou em seu catre. Sebruki ainda dormia por causa do preparado que Silêncio lhe dera. Então, ela desceu para a cozinha para ter pensamentos difíceis. Ela perdera a recompensa. As sombras teriam ficado com aquele corpo; a pele seria pó, a pele preta e arruinada. Não tinha como provar que pegara Chesterton. Ela se apoiou na mesa da cozinha e trançou os dedos diante do corpo. Queria virar um uísque, para aplacar o horror da noite. Passou horas pensando. Será que podia pagar a Theopolis de algum modo? Pedir emprestado a alguém? Quem? Talvez encontrar outra recompensa. Mas ultimamente muito poucas pessoas passavam pela pousada. Theopolis já lhe dera o alerta com a ordem. Ele não esperaria mais de um dia ou dois pelo pagamento antes de reivindicar a pousada para si. Ela tinha passado por tudo aquilo para ainda assim perder? Luz do sol bateu em seu rosto e uma brisa vinda da janela quebrada fez cócegas em sua face, despertando-a do sono à mesa. Silêncio piscou, espreguiçou, os membros protestando. Depois suspirou, indo até o balcão da cozinha. Deixara ali todo o material dos preparativos da noite passada, suas tigelas de barro com restos grossos de pasta de brilho, ainda soltando uma luz fraca. A seta de ponta de prata da besta ainda estava caída junto à porta dos fundos. Ela precisava arrumar as coisas e preparar o café da manhã para seus poucos hóspedes. Então, pensar em alguma forma de... A porta dos fundos se abriu, e alguém entrou. ...lidar com Theopolis. Ela soltou ar suavemente, olhando para ele em suas roupas limpas e com sorriso paternalista. Ele sujou seu piso de lama ao entrar. – Silêncio Montane. Bela manhã, hein? “Pelas sombras”, pensou. “Não tenho a força mental para lidar com ele agora.” Ele foi mais para perto das venezianas da janela. – O que você está fazendo? – Ahn? Você não me alertou antes de que odeia que as pessoas possam nos ver juntos? Que eles poderiam ter uma pista de que você está entregando procurados a mim? Só estou tentando protegê-la. Alguma coisa aconteceu? Você parece péssima, hein? – Eu sei o que você fez. – Sabe? Mas veja, eu faço muitas coisas. Do que está falando? Ah, como ela gostaria arrancar aquele sorriso dos lábios dele, arrancar sua garganta e eliminar aquele irritante sotaque de Lastport. Ela não podia. Ele simplesmente era bom demais em atuar. Ela tinha palpites, provavelmente bons. Mas nenhuma prova. A avó o teria matado ali mesmo. Será que estava tão desesperada para provar que ele estava errado? Que ela não perderia tudo? – Você estava nas Florestas – acusou Silêncio. – Quando Red me surpreendeu na ponte, supus que a coisa que tinha ouvido, a agitação na escuridão, fora ele. Não foi. Ele insinuou que esperara por nós na ponte. Aquela coisa na escuridão era você. Você atirou nele com a besta para desequilibrá-lo, fazer com que derramasse sangue. Por quê, Theopolis? – Sangue? – repetiu Theopolis. – À noite? E você sobreviveu? Você tem muita sorte, eu diria. Impressionante. O que mais aconteceu? Ela não disse nada. – Eu vim receber o pagamento da dívida – disse Theopolis. – Então você não tem um resgate para entregar, hein? Talvez afinal precise do meu documento. Muito gentil de minha parte ter trazido outra cópia. Isso será maravilhoso para nós dois. Não concorda? – Seus pés estão brilhando. Theopolis hesitou, depois olhou para baixo. A lama que ele trouxera para dentro brilhava num tom azul muito leve à luz do resto de pasta de brilho. – Você me seguiu – acusou ela. – Você esteve lá noite passada. Ele ergueu os olhos para ela com uma lenta expressão despreocupada. – E? – perguntou, e deu um passo à frente. Silêncio recuou, seu calcanhar batendo na parede atrás. Esticou a mão, pegando a chave e destrancando a porta atrás dela. Theopolis agarrou o braço dela, puxando-a e abriu a porta. – Pegando uma de suas armas escondidas? – perguntou ele com desprezo. – A besta que você mantém escondida na prateleira da despensa? Sim, eu sei disso. Estou desapontado, Silêncio. Não podemos ser civilizados? – Eu nunca assinarei seu documento, Theopolis – falou, depois cuspiu nos pés dele. – Prefiro morrer, prefiro ser expulsa de minha casa. Você pode tomar a pousada à força, mas não irei lhe servir. No que me diz respeito, maldito seja você, seu desgraçado. Você... Ele deu um tapa em seu rosto. Um gesto rápido, mas nada emocional. – Ah, cale a boca. Ela cambaleou para trás. – Tanto drama, Silêncio. Eu não posso ser o único que deseja que você justifique seu nome, hein? Ela lambeu o lábio, sentindo a dor do tapa. Levou a mão ao rosto. Uma única gota de sangue coloriu a ponta do seu dedo quando ela o afastou. – Espera que eu fique assustado? – perguntou Theopolis. – Sei que estamos seguros aqui. – Idiota da cidade – sussurrou ela, depois jogou a gota de sangue nele. Acertou em sua bochecha. – Sempre siga as Regras Simples. Mesmo quando achar que não precisa. E eu não estava abrindo a despensa, como você pensou. Theopolis franziu o cenho, depois olhou para a porta que ela tinha aberto. A porta que levava ao pequeno velho santuário. O santuário de sua mãe ao Deus Além. A base da porta estava coberta de prata. Olhos vermelhos se abriram no ar atrás de Theopolis, uma forma retinta se formando na sala envolta em sombras. Theopolis hesitou, depois se virou. Ele não gritou quando a sombra pegou sua cabeça nas mãos e arrancou sua vida. Era uma sombra nova, sua forma ainda forte a despeito de suas roupas escurecidas. Uma mulher alta, traços duros, com cabelo cacheado. Theopolis abriu a boca, depois seu rosto ressecou, olhos afundando na cabeça. – Você deveria ter corrido, Theopolis – falou Silêncio. A cabeça dele começou a desmanchar. O corpo desabou no chão. – Esconda-se dos olhos verdes, corra dos vermelhos – explicou Silêncio, pegando sua adaga de prata. – Suas regras, avó. A sombra se voltou para ela. Silêncio estremeceu olhando para aqueles olhos vítreos mortos de uma matriarca que ela odiava e amava. – Eu a odeio. Obrigada por me fazer odiá-la. Ela pegou a seta de besta com ponta de prata e a segurou diante de si, mas a sombra não atacou. Silêncio contornou, forçando a sombra a recuar. Ela flutuou para longe, de volta ao santuário marcado com prata na base de suas três paredes, onde Silêncio a prendera anos antes. Com o coração acelerado, ela fechou a porta, completando a barreira, e a trancou novamente. Não importava o que tinha acontecido, aquela sombra deixara Silêncio em paz. E Silêncio quase sentiu pena por prender aquela alma dentro do pequeno closet por todos aqueles anos.
Silêncio encontrou a caverna escondida de Theopolis após seis horas de buscas. Ficava perto de onde ela esperava que ficasse, nas colinas não distantes da Velha Ponte. Incluía uma barreira de prata. Ela podia recolher aquilo. Um bom dinheiro ali. Dentro da pequena caverna, ela encontrou o cadáver de Chesterton, que Theopolis arrastara para lá enquanto as sombras matavam Red e depois caçavam Silêncio. “Pelo menos uma vez estou muito contente por você ser um homem ganancioso, Theopolis.” Ela teria de encontrar outra pessoa que começasse a entregar os procurados por ela. Isso seria difícil, particularmente a curto prazo. Arrastou o cadáver para fora e o jogou sobre o lombo do cavalo de Theopolis. Uma breve caminhada a levou de volta à estrada, onde fez uma pausa, depois caminhou e encontrou o cadáver caído de Red, reduzido a ossos e roupas. Pegou a adaga de prata da avó, marcada e escurecida da luta. Encaixou-a na bainha ao seu lado. Ela se arrastou, exausta, de volta à pousada e escondeu o cadáver de Chesterton na adega fria nos fundos do estábulo, ao lado de onde colocaria os restos de Theopolis. Voltou para a cozinha. Ao lado da porta do santuário onde antes ficava pendurada a adaga da avó, ela tinha colocado a seta de prata da besta que Sebruki mandara para ela sem saber. O que as autoridades do forte diriam quando ela lhes explicasse a morte de Theopolis? Talvez pudesse alegar que o encontrara assim. Ela parou, depois sorriu.
* * *
– Você parece ter sorte, amigo – comentou Daggon, tomando sua cerveja. – ARaposa Branca não irá atrás de você tão cedo. O homem comprido, que ainda insistia em que seu nome era Sincero, se encolheu um pouco mais em seu assento. – Como pode ainda estar aqui? – indagou Daggon. – Eu viajei até Lastport. Não esperava encontrá-lo aqui ao voltar. – Arrumei trabalho numa fazenda perto daqui – contou o homem de pescoço magro. – Bom trabalho. Trabalho de verdade. – E toda noite você paga para ficar aqui? – Eu gosto daqui. Parece pacífico. Os sitiantes não têm uma boa proteção de prata. Eles simplesmente... deixam as sombras circular. Mesmo dentro de casa – explicou o homem, estremecendo. Daggon deu de ombros, erguendo sua bebida quando Silêncio Montane passou mancando. Sim, ela era uma mulher de aparência saudável. Ele devia cortejá-la um dia desses. Ela fez cara feia para o sorriso dele e jogou o prato à sua frente. – Acho que a estou conquistando – disse Daggon quando ela saiu, principalmente para si mesmo. – Você vai ter de se esforçar – comentou Sincero. – Sete homens a pediram em casamento mês passado. – O quê? – A recompensa. Por entregar Chesterton e seus homens. Mulher de sorte Silêncio Montane. Encontrar o esconderijo de Raposa Branca assim. Daggon deu atenção à sua refeição. Ele não gostava muito de como as coisas tinham acontecido. Theopolis, aquele dândi, tinha sido a Raposa Branca o tempo todo? Pobre Silêncio. Como tinha sido se deparar com a caverna dele e encontrálo do lado de dentro, todo ressecado? – Dizem que esse Theopolis gastou suas forças matando Chesterton e depois o arrastando para o buraco – contou Sincero. – Theopolis secou antes de conseguir chegar ao seu pó de prata. Muito típico de Raposa Branca, sempre determinado a pegar a recompensa, não importando como. Não voltaremos a ver um caçador como ele. – Imagino que não – falou Daggon, embora preferisse muito mais que o homem tivesse mantido sua pele. Agora sobre quem Daggon iria contar histórias? Ele não gostava de pagar pela própria cerveja. Perto, um sujeito de aparência gordurosa se levantou e saiu pela porta da frente, parecendo já meio bêbado, embora fosse apenas meio-dia. Certas pessoas. Daggon balançou a cabeça. – À Raposa Branca – disse, erguendo sua bebida. Sincero bateu sua caneca na de Daggon. – À Raposa Branca, o desgraçado mais malvado que as Florestas já conheceram. – Que sua alma tenha paz, e obrigado ao Deus Além por ele nunca ter decidido que valíamos o seu tempo – completou Daggon. – Amém – falou Sincero. – É claro, ainda há Bloody Kent – acrescentou Daggon. – Esse é um sujeito horrível. Melhor torcer para que ele não tire o seu número, amigo. E não me lance esse olhar de inocência. Aqui são as Florestas. Todos aqui fizeram alguma coisa, em algum momento, que não querem que os outros saibam...
.
.
SHARON KAY PENMAN
Sharon Kay Penman foi aclamada pela Publisher’s Weekly como “uma romancista histórica de primeira linha”. Seu romance de estreia, The Sunne in Splendour, sobre Ricardo III, foi um sucesso mundial, e sua consagrada trilogia dos príncipes galeses – Here Be Dragons, Falls the Shadow e The Reckoning – também. Entre seus outros livros estão uma sequência sobre Eleanor da Aquitânia – When Christ and His Saints Slept, Time and Chance e Devil’s Brood – e a série de mistérios históricos “Justin de Quincy”, que inclui The Queen’s Man, Cruel As the Grave, Dragon’s Lair e Prince of Darkness. Seu livro mais recente é um romance sobre Ricardo Coração de Leão, Lionheart. Ela mora em Mays Landing, Nova Jersey, e tem o site sharonkaypenman.com. Aqui ela nos leva de volta à Sicília do século XII para nos mostrar que uma rainha no exílio ainda é uma rainha – e de fato uma mulher muito perigosa.
.
UMA RAINHA NO EXÍLIO
DEZEMBRO DE 1189 HAGUENAU, ALEMANHA Constance de Hauteville tremia, embora estivesse o mais perto da lareira que podia sem queimar as saias. Seu quarto aniversário de casamento seria dali a um mês, mas ela ainda não se aclimatara aos invernos alemães. Ela não costumava se permitir lembranças da Sicília, sua terra natal, pois qual o sentido em jogar sal na ferida? Mas nas noites em que gelo e ventos frios a congelavam até a medula dos ossos, ela não podia se negar o desejo de palmeiras, oliveiras e do calor ensolarado de Palermo, dos palácios reais que cercavam a cidade como um colar de pérolas reluzentes com seus pisos de mármore, mosaicos vívidos, fontes cascateando, jardins luxuriantes e cintilantes piscinas prateadas. – Minha senhora? – chamou uma de suas damas, estendendo uma taça de vinho quente temperado. Constance a aceitou com um sorriso. Mas sua mente rebelde insistiu em voltar no tempo, evocando as grandiosas diversões natalinas da corte, presididas por seu sobrinho, William, e Joanna, sua jovem rainha inglesa. Casamentos reais não eram realizados por afinidade amorosa, claro, mas determinados por questões de Estado. Porém, se um casal tinha sorte, podia desenvolver genuínos respeito e afeto mútuos. O casamento de William e Joanna parecia afetuoso a Constance, e quando esta se casara com Heinrich Von Hohenstaufen, rei da Alemanha e herdeiro do Santo Império Romano, esperara conseguir alguma satisfação na união. Era verdade que aos 21 anos ele já tinha uma reputação de ser cruel e inflexível. Mas também era um poeta, fluente em diversos idiomas, e ela tentara se convencer de que tinha um lado mais suave que revelava apenas à família. Em vez disso, descobriu um homem tão frio e duro quanto as terras que governava, um homem totalmente carente da paixão, da exuberância e da joie de vivre que faziam da Sicília um paraíso na Terra. Ao terminar o vinho, ela relutantemente se afastou do fogo. – Estou pronta para dormir – avisou, estremecendo de novo quando soltaram seu manto, expondo sua pele ao ar frio do cômodo. Sentou-se em um banco, ainda de chemise, um robe colocado sobre os ombros enquanto retiravam touca e véu e soltavam seu cabelo. Eles chegaram à cintura, o dourado claro iluminado pelo luar tão valorizado pelos trovadores. Ela um dia se orgulhara deles, se orgulhara de sua boa aparência de Hauteville e cores claras. Mas enquanto olhava para um espelho portátil de marfim, a mulher que olhava de volta era uma estranha cautelosa, magra e cansada demais, revelando cada um de seus 35 anos. Após escovar seu cabelo, uma de suas damas começou a trançá-los para a noite. Então a porta foi aberta com força e o marido de Constance entrou no aposento a passos largos. Enquanto suas damas se abaixavam em mesuras submissas, Constance se levantou apressada. Ela não o esperava, pois ele lhe fizera uma visita em seus aposentos apenas duas noites antes, para aquilo a que ele se referia como “obrigação marital”, uma de suas raras piadas, pois se ele tinha senso de humor até então o mantivera bem escondido. Quando se casaram ela ficara tocada por ele sempre ir procurá-la, em vez de convocá-la aos seus aposentos, achando que isso revelava uma sensibilidade inesperada. Mas então já sabia. Caso se deitassem na cama dela, ele então poderia voltar depois a seus próprios aposentos, como sempre fazia; ela podia contar nos dedos de uma mão as vezes em que despertaram na mesma cama. Heinrich sequer olhou para suas damas. – Deixem-nos – ordenou, e elas se apressaram para obedecer, tão rapidamente que sua retirada quase pareceu uma fuga. – Senhor meu marido – murmurou Constance enquanto a porta se fechava atrás da última dama. Ela não conseguiu ler nada em seu rosto; ele havia muito dominara a habilidade real de esconder seus pensamentos íntimos por trás de uma máscara pública impassível. Mas enquanto ela o estudava mais atentamente, viu sutis indícios de seu humor – a leve curva no canto da boca, sua palidez habitual aquecida por um leve rubor. Ele tinha a cor de olhos mais estranha que já vira, tão cinza e clara quanto um céu gelado de inverno, mas no momento eles pareciam refletir a luz das velas, reluzindo com brilho incomum. – Chegaram notícias da Sicília. O rei deles está morto. Constance o encarou, de repente duvidando de seu domínio sobre os alemães. Ela não podia ter ouvido corretamente. – William? – sussurrou, sua voz rouca de descrença. Heinrich ergueu uma sobrancelha. – Há outro rei da Sicília que eu não conheça? Claro que estou falando de William. – O que... O que aconteceu? Como... Ele deu de ombros levemente. – Alguma terrível pestilência siciliana, suponho. Só Deus sabe, a ilha está tomada por febres, pragas e doenças suficientes para derrubar metade da cristandade. Só sei que ele morreu em novembro, uma semana antes do dia de são Martinho de Tours, então a coroa dele é nossa. Os joelhos de Constance ameaçaram fraquejar, e ela cambaleou na direção da cama. Como William podia estar morto? Só havia um ano entre eles; eles eram mais como irmão e irmã do que sobrinho e tia; tiveram uma infância idílica, e depois ela tomara sob suas asas a pequena noiva dele, uma menina de 11 anos com saudades de casa e nova demais para se casar. Agora Joanna era viúva aos 24. O que aconteceria com ela? O que aconteceria à Sicília sem William? Tomando consciência da presença de Heinrich, ela ergueu os olhos e o encontrou de pé junto à cama, olhando para ela abaixo. Deu um suspiro para se preparar e se colocou de pé; era alta para uma mulher, tão alta quanto Heinrich, e ganhava confiança com o fato de que podia olhar diretamente nos olhos dele. A aparência dele não era tão régia. Seus cabelos louros eram finos, a barba falhada e o físico frágil; num momento nada gentil ela colocou na cabeça que ele parecia um cogumelo que nunca vira a luz do dia. Não podia ser mais diferente do pai carismático, expansivo e robusto, o imperador Frederick Barbarossa, que caminhava pela corte imperial como um colosso. Mas era Heinrich quem inspirava medo em seus súditos, não Frederick; aqueles olhos cor de gelo podiam empalar homens tão certamente quanto o golpe de uma espada. Nem mesmo Constance era imune ao seu poder penetrante, embora tivesse movido céus e terras para impedi-lo de descobrir isso. – Você sabe o que isso significa, Constance? A rainha de William era estéril, e isso faz de você a única herdeira legítima do trono siciliano. Mas aqui está você, sentada, como se eu tivesse lhe dado a notícia de alguma calamidade. Constance se encolheu, pois sabia que era o que as pessoas sussurravam dela às suas costas. Justiça seja feita a Heinrich, ele nunca a chamara de “estéril”, pelo menos não até então. Mas devia pensar isso, pois estavam casados havia quatro anos e ela não concebera. Até então, ela fracassara no maior dever de uma rainha. Às vezes pensava no que Heinrich achava do casamento que o pai arranjara para ele – uma esposa estrangeira onze anos mais velha. Será que relutara tanto quanto ela? Ou estivera disposto a apostar que sua nova esposa imperfeita podia um dia lhe dar a Sicília, o mais rico reino da Cristandade? – Joanna não era estéril – retrucou secamente. – Ela deu à luz um filho. – Que não sobreviveu. E nunca engravidou novamente. Por que você acha que William obrigou seus lordes a reconhecer seu direito à coroa caso morresse sem um herdeiro legítimo? Queria garantir a sucessão. Constance sabia mais. William nunca duvidara de que ele e Joanna iriam um dia ter outro filho; eram jovens, e ele era por natureza um otimista. E como tinha tanta confiança nisso, não se perturbara com a reação que o casamento dela provocara. O que importava seus súditos ficarem horrorizados com a perspectiva de um alemão os governando se isso nunca aconteceria? Mas ele estava morto aos 36 anos, e os temores de seu povo de repente se tornaram bastante reais. – Pode não ser tão fácil quanto você pensa, Heinrich – disse, escolhendo as palavras com cuidado. – Nosso casamento foi muito impopular. Os sicilianos não receberão bem um rei alemão. Ele se mostrou tão indiferente aos desejos do povo siciliano quanto William se importava. – Eles não têm escolha – falou, friamente. – Não estou tão certa disso. Eles podem muito bem se voltar para o primo de William, Tancredo. Ela estava prestes a explicar melhor quem era Tancredo, mas não havia necessidade, Heinrich nunca se esquecia de nada que envolvesse seus interesses pessoais. – O conde de Lecce? Ele é um bastardo! Ela abriu a boca, mas a fechou novamente. Não adiantaria argumentar que os sicilianos prefeririam um homem nascido fora do casamento a Heinrich. Mas ela sabia que era verdade. Abraçariam seu primo bastardo antes de aceitar seu marido alemão. Heinrich a observava, pensativo.
– Você quer a coroa, Constance? – perguntou ele. Ela sentiu uma chama de indignação por sequer ter ocorrido a ele que poderia lamentar por William, o último de sua família, e anuiu. Mas ele pareceu satisfeito com aquela resposta muda. – Vou mandar que suas damas entrem novamente. Durma bem, pois logo terá outra coroa para adicionar à sua coleção. Assim que a porta foi fechada, Constance afundou na cama e, depois de um momento, chutou os sapatos e se enfiou sob as cobertas. Estava estremecendo novamente. Aproveitando aquele raro momento de privacidade antes que suas damas voltassem, ela fechou os olhos e fez uma prece pela alma de William. Decidiu que mandaria rezar missas para ele pela manhã e isso lhe deu uma pequena dose de consolo. Também iria rezar por Joanna, naquele momento de necessidade. Então, se acomodando sentada com travesseiros de penas, tentou compreender as emoções conflitantes e confusas despertadas pela morte prematura de William. Ela não esperava aquilo, achara que William teria um reinado longo e próspero, e que de fato teria um filho para sucedê-lo. Eles foram arrogantes, ela e William, supondo que conheciam a Vontade do Todo-Poderoso. Deveriam ter se lembrado das escrituras: “O coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que firma seus passos.” Mas Heinrich estava certo. Ela era a herdeira legal do trono siciliano. Não Tancredo. E ela o queria. Era seu direito de nascença. A Sicília era dela por sangue, a terra que amava. Então, por que sentia tanta dúvida? Enquanto se mexia nos travesseiros, seu olhar pousou sobre a única joia que usava, uma fita de ouro batido incrustado de esmeraldas – sua aliança de casamento. Por mais que desejasse a Sicília, não queria entregá-la a Heinrich. Não queria ser aquela a soltar a cobra no Éden.
As previsões de Constance sobre Tancredo de Lecce se provaram justificadas. Os sicilianos se uniram ao redor dele, que foi coroado rei da Sicília em janeiro de 1190. Constance ecoou devidamente o ultraje de Heinrich, embora já tivesse previsto aquilo. Não ficara surpresa sequer ao tomar conhecimento de que Tancredo confiscara as terras do seu dote, já que tinham importância estratégica, e o novo rei sabia muito bem que um exército alemão contestaria sua reivindicação à coroa. Mas ela ficou bem chocada quando Tancredo fez Joanna prisioneira, mantendo-a em cativeiro em Palermo, aparentemente temendo que ela usasse sua popularidade pessoal em apoio a Constance. Heinrich quis golpear dura e rapidamente o homem que usurpara o trono de sua esposa. Mas a vingança teria de esperar, pois seu pai tomara a cruz e planejava se juntar à cruzada para libertar Jerusalém do sultão do Egito, o sarraceno Salah Al-Din, conhecido pelos cruzados como Saladino, e precisava que Heinrich governasse a Alemanha em sua ausência. Frederick Barbarossa partiu para a Terra Santa naquela primavera. A força alemã enviada por Heinrich foi arrasada por Tancredo, que continuou a consolidar seu poder, conseguindo algum sucesso na corte papal, pois o papa considerava o Santo Império Romano uma ameaça maior que a ilegitimidade de Tancredo. O cativeiro de Joanna terminou com a chegada do novo rei inglês à Sicília em setembro, seu irmão Richard, conhecido por amigos e inimigos como Coração de Leão. Assim como Frederick, ele estava a caminho da Terra Santa, acompanhado de um grande exército. Ficou furioso ao tomar conhecimento dos apuros de Joanna e exigiu que ela fosse libertada de imediato e seu dote, devolvido. Tancredo sabiamente concordou, pois Richard conhecia a guerra do mesmo jeito que um padre conhecia o Pai Nosso. Para Constance, esse foi o único momento de luz em um ano escuro e desalentador. E em dezembro eles souberam que o pai de Heinrich estava morto. Sem nunca ter chegado à Terra Santa, Frederick se afogou vadeando um rio na Armênia. Heinrich não perdeu tempo. Arriscando cruzar os Alpes em janeiro, ele e Constance lideraram um exército até a Itália. Pararam em Roma para ser coroados pelo papa, depois cavalgaram rumo sul. A guerra pela coroa siciliana começara.
Salerno fervia ao sol de agosto. Normalmente a maresia tornava o calor tolerável, mas aquele era um dos verões mais quentes e secos de memória recente. O céu estava livre de nuvens, um azul desbotado e alvejado que parecia branco como ossos ao meio-dia. Pátios e jardins ofereciam pouca sombra, e o ruído habitual da cidade estava abafado, as ruas desertas. De pé na varanda do palácio real, Constance desejava poder acreditar que os cidadãos se confinaram em casa devido ao calor. Mas sabia que havia uma força mais poderosa em ação – o medo. O reino da Sicília abrangia as terras continentais ao sul de Roma, além da própria ilha, e à medida que o exército alemão percorreu a península, cidade após cidade abriu as portas a Heinrich. Os cidadãos de Salerno até mesmo saíram para recebê-lo. Embora seu arcebispo estivesse firme ao lado de Tancredo, os moradores juraram fidelidade a Heinrich, e convidaram Constance a ficar na cidade enquanto ele sitiava Nápoles. Inicialmente, Constance desfrutara de sua estadia em Salerno. Era maravilhoso estar de volta à sua terra natal. Estava encantada com sua residência luxuosa – o palácio real que fora construído por seu pai, o grande rei Ruggero. Saboreou as refeições deliciosas que cobriam sua mesa, alimentos finos raramente disponíveis além dos Alpes – melões, romãs, laranjas, amêndoas açucaradas, arroz, camarão, ostras, peixes que nadavam no Mediterrâneo azul naquela manhã e fritavam nas panelas da cozinha do palácio à tarde. Melhor de tudo, ela podia se consultar com algumas das melhores médicas da Cristandade sobre seu fracasso em conceber. Ela nunca teria discutido uma questão tão íntima com um médico do sexo masculino. Mas as mulheres podiam cursar a famosa escola de medicina de Salerno e praticar a profissão. Ela logo encontrou dama Martina, com quem a consulta foi uma revelação. Constance sempre se culpara por seu casamento sem filhos, já que o saber popular sustentava que a culpa era sempre da mulher. Não era bem assim, dissera Martina secamente. Assim como uma mulher pode ter um defeito no útero, um homem pode ter um defeito em sua semente. Ademais, havia formas de descobrir qual deles tinha o problema. Um pequeno pote devia ser enchido com a urina da mulher, e outro com a do marido. Farelo de trigo era então adicionado aos dois potes, que eram guardados por nove dias. Se vermes aparecessem na urina do homem, ele era o culpado, e o mesmo era válido para a mulher. – Duvido que o senhor meu marido concorde com tal teste – dissera Constance secamente, imaginando a reação incrédula e ultrajada de Heinrich caso apenas insinuasse que a culpa poderia ser dele. Mas ela mesma fez o teste, e quando sua urina se revelou sem vermes no nono dia, seu ânimo melhorou muito. Mesmo que ninguém mais soubesse, ela sabia então que não tinha um útero defeituoso; não estava condenada a ser a mais infeliz de todas as criaturas, uma rainha estéril. Martina também deu esperança, explicando que às vezes nem marido nem esposa tinham culpa, e ainda assim a semente dele não deitava raízes em seu ventre. Mas isso podia ser remediado, garantiu à Constance. Ela devia secar as partes masculinas de um porco e fazer um pó, que então tomaria com um bom vinho. E para garantir o nascimento de um menino, Constance e Heinrich tinham de secar e macerar o ventre de uma lebre, depois tomá-lo com vinho. Constance fez uma careta com isso, feliz por ser poupada de fórmula tão pouco apetitosa até ela e Heinrich se encontrarem novamente. Mas como ela faria com que ele cooperasse? Teria de descobrir um modo de misturar o pó no vinho dele sem ser notada em uma de suas visitas noturnas aos seus aposentos. Ficou tão grata a Martina que ofereceu à mulher mais velha uma enorme soma para que se tornasse sua médica pessoal, e Martina aceitou alegremente, tentada tanto pelo prestígio de servir a uma imperatriz quanto pelos benefícios financeiros. Mas então começaram a chegar a Salerno notícias sobre a invasão a Nápoles. Pela primeira vez, Heinrich estava enfrentando uma forte resistência, liderada pelo cunhado de Tancredo, o conde de Acerra e arcebispo de Salerno. Heinrich alugara navios de Pisa, mas não estavam em número suficiente para bloquear o porto e, com isso, ele não conseguiu deixar os napolitanos famintos para que se rendessem. Tancredo escolhera resistir na ilha da Sicília, sabendo que sua arma mais perigosa era o quente e úmido verão italiano. As tropas alemãs de Heinrich não estavam acostumadas a um calor tão sufocante e logo começaram a adoecer. Acampamentos militares eram particularmente vulneráveis a contágios mortais como disenteria – Constance ouvira que mais cruzados morreram de doença do que das espadas dos sarracenos na Terra Santa. Ela esperara que os salernitanos continuassem ignorando os revezes pelos quais Heinrich passava, mas isso era uma esperança irreal, já que Nápoles ficava a menos de cinquenta quilômetros ao norte de Salerno. Ela soube quando a notícia começou a chegar à cidade, pois as pessoas que encontrou na piazza estavam contidas ou ranzinzas, e os empregados do palácio não conseguiam esconder seu desalento. Até mesmo Martina lhe perguntara ansiosa se estava certa de que Heinrich conseguiria vencer, e não pareceu convencida com as garantias de Constance. Salerno supusera que Tancredo não seria páreo para o grande exército alemão, e a autopreservação falara mais alto que a lealdade para com o rei siciliano. Naquele momento, todos começavam a temer ter montado no cavalo errado. Quando quase uma quinzena se passou sem notícias de Heinrich, Constance enviou a Nápoles Sir Baldwin, líder dos seus cavaleiros, para descobrir quão ruim era a situação. Naquele momento, de pé na varanda do palácio, ela protegeu os olhos do brilho do sol de meio-dia e ficou pensando se aquele seria o dia em que Baldwin voltaria. Ela nunca admitiria em voz alta, mas queria que ele permanecesse o mais distante possível, tão certa estava de que traria más notícias. – Madame? – chamou Hildegund, de pé junto à porta. A maioria dos empregados de Constance era siciliana, incluindo a dama Adela, que estava com ela desde a infância, e Miguel, o eunuco sarraceno que despertava tanta atenção na corte de Heinrich; os alemães ficavam chocados por sarracenos poderem viver livremente num país cristão, e horrorizados por William ter confiado a homens chamados de “eunucos do palácio” o governo de seu reino. Constance tomara o cuidado de não revelar que William falava árabe ou que esse fosse um dos idiomas oficiais da Sicília, e insistiu com Miguel para que abraçasse a Verdadeira Religião, embora soubesse que muitas das conversões dos eunucos ao Cristianismo eram frequentemente falsas. Como poderia um dia fazer Heinrich ou seus súditos compreender o mosaico complexo que era a sociedade siciliana? Hildegund era uma das poucas damas de companhia alemãs, uma viúva contida e digna que fora uma grande ajuda no esforço de Constance em aprender alemão, e a rainha lhe lançou um sorriso afetuoso, anuindo quando a mulher lembrou-lhe de que era hora da refeição principal do dia. Os jantares eram muito diferentes do que tinham sido no começo de sua estadia em Salerno. Na época, os nobres locais e suas damas disputavam com ansiedade um convite da imperatriz, e o grande salão ficava lotado com convidados ricamente vestidos exibindo suas sedas e joias enquanto tentavam cativar Constance. Mas, por mais de uma semana seus convites para jantar foram recusados com o que eram claramente desculpas, e naquele domingo os únicos à sua mesa eram os membros de sua própria casa. Os cozinheiros do palácio tinham preparado diversos pratos saborosos, mas Constance se limitou a pegar um pouco do galeto grelhado em sua travessa. Olhando ao redor, viu também que poucos tinham muito apetite. Lembrando a si mesma de que deveria estar dando um exemplo à sua casa, começou uma conversa animada com Martina e seu capelão no momento em que gritos penetraram pelas janelas abertas. Cavaleiros estavam chegando. Constance pousou sua taça de vinho e se levantou lentamente enquanto Baldwin entrava no salão. Uma olhada em seu rosto lhe disse tudo que precisava ou queria saber, mas se obrigou a estender a mão e pegar a carta oferecida enquanto ele se ajoelhava à sua frente. Fazendo um gesto para que se levantasse, ela rompeu o selo do marido e examinou rapidamente o conteúdo. Não estava escrita com a caligrafia de Heinrich, claro; ele sempre ditava suas cartas a um escriba, pois nunca lhe mandava uma mensagem que não pudesse ser vista por outros olhos. Um murmúrio baixo percorreu o salão enquanto os outros viam sua cor desaparecer, deixando a pele tão pálida que parecia quase translúcida. Quando ela ergueu os olhos, porém, sua voz era firme, sem revelar nada de sua perturbação interior. – Não irei enganá-los. As notícias não são boas. Muitos morreram de diarreia, e o próprio imperador foi acometido dessa doença terrível. Ele decidiu que seria melhor encerrar a invasão, e ontem seu exército iniciou uma retirada de Nápoles. Houve engasgos, choro contido, umas poucas obscenidades murmuradas por alguns dos cavaleiros. – E quanto a nós, senhora? – soltou uma jovem. – O que será de nós? – O imperador deseja que permaneçamos em Salerno. Diz que minha presença aqui será prova de que pretende retornar e que a guerra não se encerrou. Houve um silêncio pelo choque. Tirando vantagem disso, ela chamou Baldwin e saiu para o pátio. O sol estava ofuscante e, quando se sentou na beirada da fonte de mármore, pôde sentir o calor através da seda de sua túnica. – Quão doente ele está, Baldwin? – perguntou ela, tão suavemente que sentiu a necessidade de repetir, engolindo até ter saliva para falar. Ele se ajoelhou ao lado dela. – Muito doente, minha senhora. Os médicos disseram que morreria se ficasse lá. Temo que seu juízo tenha sido afetado pela febre, pois parecia não se dar conta do perigo que a senhora corre agora que ele partiu. Constance não achava que fosse a febre, mas a autoconfiança suprema de Heinrich. Ele não entendia que o medo que os salernitanos sentiam dele dependia de sua presença. Quando corresse a notícia de que seu exército estava em retirada, as pessoas veriam aquilo como uma derrota e começariam a temer Tancredo mais do que Heinrich, pois o haviam traído convidando-a a ficar em sua cidade. Podia sentir uma dor de cabeça chegando e esfregou as têmporas numa tentativa inútil de detê-la. A ira de um rei de fato era algo a temer. O pai de Heinrich arrasara Milão como punição por traições anteriores, e seu irmão, o pai de William, destruíra a cidade de Bari como um aviso brutal a possíveis rebeldes. Seria Tancredo capaz de vingança tão impiedosa? Ela achava que não, mas como os cidadãos amedrontados de Salerno saberiam disso? – Minha senhora... Acho que deveríamos deixar este lugar hoje. Um exército saudável viaja menos de quinze quilômetros por dia, e esse exército está esgotado e sangrando. Se nos apressarmos, poderemos alcançá-lo. Constance mordeu o lábio. Ela concordava com Baldwin; não estava segura ali, não naquele momento. Mas seu orgulho se rebelava contra a ideia de fugir na noite como um ladrão. Como os sicilianos a considerariam merecedora de governá-los caso se rendesse aos temores como uma mulher tola e tímida? Seu pai não teria fugido. E Heinrich nunca a perdoaria caso o desobedecesse e fugisse de Salerno, pois sua carta afirmara que sua presença era importante como uma promessa a seus aliados, um alerta a seus inimigos – prova de que ele voltaria. Ela não quisera Heinrich como seu marido; queria-o ainda menos como seu inimigo. Como poderia viver com um homem que a odiava... E odiaria, pois sua fuga tornaria impossível para ele fingir que não havia sofrido uma derrota humilhante. – Não posso, Baldwin – falou ela. – É o desejo de meu marido que eu o espere aqui em Salerno. Mesmo que o pior aconteça e Tancredo sitie a cidade, Heinrich enviará tropas para defendê-la... E a nós.
– Claro, madame – concordou Baldwin, reunindo toda a certeza que podia. – Tudo ficará bem. Mas ele não acreditava nisso e duvidava que Constance acreditasse.
Demorou apenas dois dias para que chegasse a Salerno a notícia da retirada do exército alemão. As ruas logo foram tomadas por homens e mulheres frenéticos tentando se convencer de que não tinham cometido um erro fatal. Constance enviou arautos para assegurar a eles que Heinrich logo voltaria. Mas, com o crepúsculo tomando a cidade, um novo e aterrorizante boato correu – de que o imperador alemão morrera de disenteria. E essa foi a faísca jogada no palheiro que iniciou o incêndio. Constance e os seus tinham acabado a refeição noturna quando ouviram um barulho estranho, quase como o ronco do mar, um rumor distante e abafado que foi ficando mais alto. Ela mandou vários cavaleiros investigarem, e eles logo retornaram com notícias alarmantes. Uma enorme multidão estava se reunindo diante dos portões do palácio, muitos deles bêbados, todos em pânico com o problema que tinham criado para si mesmos. Baldwin e seus cavaleiros garantiram a Constance e às mulheres que a multidão não seria capaz de forçar a entrada no terreno do castelo, depois foi se juntar aos homens que protegiam as muralhas. Mas pouco depois eles voltaram correndo para o grande salão. – Fomos traídos – disse Baldwin, engasgando. – Aqueles filhos da puta covardes abriram os portões para eles! Trancando as grossas portas de carvalho, eles se apressaram a fechar as venezianas enquanto Baldwin enviava homens para garantir que todas as outras entradas do palácio estavam seguras. As damas de Constance se reuniram em torno dela, do modo como pintinhos corriam para a mãe galinha quando a sombra de um falcão escurecia o sol. A consciência de que esperavam respostas suas a fortaleceu, lhe dando a coragem de que precisava para enfrentar aquela crise inesperada. Ela temera que Salerno logo estivesse sitiada pelo exército que Tancredo enviara para defender Nápoles. Não se dera conta de que o maior perigo era interno. Ela as tranquilizou o melhor que pôde, insistindo em que o povo da cidade se dispersaria assim que se desse conta de que não conseguiria entrar no palácio. Suas palavras soaram vazias até mesmo para ela, pois a fúria da multidão não dava sinal de ceder. Eles agiram por pânico e não estavam preparados para um ataque. Mas naquele momento os que estavam no salão podiam ouvir gritos pedindo machados, um aríete. Quando Constance ouviu homens também pedindo lenha e archotes, soube que não poderiam esperar que cabeças mais frescas prevalecessem ou que os covardes funcionários da cidade interviessem. Chamando Baldwin, ela o conduziu ao tablado. – Eu preciso falar com eles – falou, suavemente. – Talvez possa fazer com que ouçam a voz da razão. Ele ficou horrorizado. – Minha senhora, eles estão loucos de medo. Não há como raciocinar com eles. Ela desconfiava que ele estava certo, mas o que mais podia fazer? – Ainda assim, preciso tentar – respondeu, com uma firmeza que estava longe de sentir. – Venha comigo até o solário acima do salão. Posso falar com eles da varanda. Ele continuou a argumentar sem muita convicção, pois também não sabia o que mais fazer e, quando ela se virou para a escadaria, foi atrás. O solário estava escuro, pois nenhuma luminária a óleo havia sido acesa, e o calor era sufocante. Constance esperou enquanto Baldwin destrancava a porta que dava para a pequena varanda; ela podia sentir a transpiração escorrendo por suas costelas, e o coração batia tão acelerado que se sentia tonta. A cena abaixo dela era assustadora. A escuridão era pontilhada por archotes em chamas iluminando rostos deformados por raiva e medo. Viu mulheres na multidão crescente e, inacreditavelmente, até mesmo algumas crianças correndo nos limites do grupo, como se aquilo fosse uma festa religiosa. Algumas passavam odres de vinho, mas a maioria extraía coragem do desespero. Ainda estavam pedindo lenha, conclamando aqueles mais perto da rua a encontrar qualquer coisa que queimasse. Demorou algum tempo até que notassem a mulher de pé imóvel acima deles, agarrando o gradil da varanda como se fosse seu único salva-vidas. – Bom povo de Salerno! – disse Constance com dificuldade, preocupada que não a ouvissem. Antes que pudesse continuar, eles começaram a gritar e apontar. Ela ouviu seu nome, ouviu gritos de “Piranha!”, “Feiticeira!” e então “Vadia alemã!”. – Não sou alemã! – retrucou. Não havia risco de não ser ouvida; sua voz ecoou pelo pátio, tomada de raiva. – Sou nascida e criada na Sicília, como todos vocês. Sou a filha do rei Ruggero, de abençoada lembrança. Esta é minha pátria tanto quanto de vocês. Ela não estava certa se havia sido a menção ao nome de seu reverenciado pai, mas a multidão silenciou por um momento. – Sei que estão confusos e com medo. Mas ouviram boatos falsos. O imperador Heinrich não está morto! Na verdade, já está se curando. Recebi uma carta dele esta manhã, dizendo que espera retornar logo. Ela parou para tomar fôlego. – Vocês conhecem o senhor meu marido. Ele se lembra daqueles que o serviram bem. Quando ele liderar seu exército de volta a Salerno, ficará grato a vocês por manterem sua esposa em segurança. Vocês serão recompensados por sua lealdade. Outra pausa, essa deliberada. – Mas vocês também precisam saber disto. O imperador Heinrich nunca se esquece de quem lhe fez mal. Se traírem sua fé, se ferirem a mim ou aos meus, ele não irá perdoar. Deixará ruínas fumegantes onde sua cidade um dia se ergueu. Algum de vocês ousa negar isso? Sabem em seus corações que eu digo a verdade. Vocês têm muito mais a temer do imperador caso provoquem sua ira do que terão um dia daquele usurpador em Palermo. Ela achou que os tinha conquistado, pôde ver algumas cabeças anuindo, ver homens baixando porretes e arcos enquanto falava. Mas sua menção a Tancredo foi um erro tático, lembrando a eles que aqueles que o apoiavam estavam a apenas cinquenta quilômetros, em Nápoles, enquanto o exército de Heinrich fora dizimado pela disenteria, fugindo com o rabo entre as pernas. Com o feitiço quebrado, a multidão começou a murmurar, e então um jovem bem vestido com uma espada na cintura gritou: – Ela mente! Aquele porco alemão deu seu último suspiro um dia depois de ter fugido do acampamento sitiante! Mandem-na se juntar a ele no inferno! As palavras mal tinham saído de sua boca quando um de seus aliados ergueu o arco, apontou e disparou uma flecha pela escuridão na direção da varanda. A pontaria dele era boa, mas Baldwin estivera vigiando aqueles que estavam armados, e assim que o arqueiro se moveu ele saltou das sombras, empurrando Constance para o chão. Houve um silêncio chocado, e então uma mulher gritou: – Santa Maria mãe de Deus, você a matou! Alguém mais retrucou que eles então não tinham mais nada a perder, e mais flechas foram disparadas. Engatinhando, Constance e Baldwin voltaram para dentro do solário e ela se sentou no chão, ofegante, enquanto ele se atrapalhava com a porta. Vários baques lhes avisaram que flechas tinham atingido o alvo. Assim, que conseguiu respirar novamente, Constance estendeu a mão, deixou que ele a ajudasse a levantar. – Obrigada – falou, e lágrimas arderam em seus olhos quando ele jurou que a defenderia enquanto conseguisse respirar, pois aquela não era uma promessa vazia. Ele morreria ali no palácio de Salerno. Todos morreriam a não ser que o Todo-Poderoso produzisse um milagre diretamente a favor deles. Ela insistiu em que a acompanhasse de volta ao salão, pois pelo menos podia fazer isso pelos seus. Ficaria com eles até o fim. Ela esperava histeria, mas suas damas pareciam chocadas. Constance ordenou que trouxessem vinho, pois o que mais havia a fazer? Podiam ouvir o som do ataque, sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a malta derrubasse as portas. Com o barulho se intensificando, Martina puxou Constance de lado, discretamente mostrando a ela um punhado de ervas na palma de sua mão. – Elas agem rapidamente – murmurou, e as teria jogado na taça de vinho de Constance se ela não se encolhesse. – Martina! Suicídio é um pecado mortal! – É um destino melhor que aquele que nos aguarda, minha senhora. Eles estão enlouquecidos e não há ninguém no comando. O que acha que irão lhe fazer assim que entrarem? Pela manhã, estarão horrorizados com o que fizeram esta noite. Mas seu remorso e sua culpa não mudarão nada. Constance não conseguiu reprimir um estremecimento, mas continuou a balançar a cabeça. – Eu não posso – sussurrou. – Nem você pode, Martina. Queimaríamos para sempre no inferno se o fizéssemos. Martina não disse nada, simplesmente devolveu as ervas a uma bolsa que balançava em seu cinto. Ficou ao lado de Constance, eventualmente lançando um olhar significativo para a mulher mais jovem, como se lembrando a ela que ainda havia tempo para mudar de ideia. Constance subiu os degraus do palanque, erguendo a mão para pedir silêncio. – Devemos rezar ao Deus Todo-Poderoso para que Sua vontade seja feita – disse, surpresa que sua voz soasse tão firme. Houve alguns soluços abafados das suas damas, mas quando se ajoelhou elas também o fizeram. Assim como os homens, depois de cuidadosamente colocar suas armas ao alcance das mãos. Aqueles que não haviam confessado seus pecados procuraram o capelão de Constance, seguindo-o até atrás da tela de madeira decorada que usava como confessionário improvisado. Miguel não se juntou aos outros na confissão, confirmando a suspeita de Constance de que sua fé cristã era um disfarce. Mas era um bom homem, e ela esperava que o Todo-Poderoso tivesse misericórdia dele. O eunuco ficara num nicho de janela, acompanhando o avanço do ataque pelos sons que penetravam no salão. De repente, ele chamou: – Minha senhora! Algo está acontecendo! Antes que qualquer um pudesse impedi-lo, ele destrancou as venezianas e olhou para a escuridão. Depois as escancarou. Naquele momento, todos podiam ouvir os gritos. Baldwin foi apressado até a janela. – A malta está sendo dispersada por homens a cavalo, madame! Deus ouviu nossas preces! A multidão se espalhou enquanto cavaleiros se colocavam no meio dela. O pátio logo foi esvaziado por todos, com exceção dos cavaleiros e dos corpos esmagados daqueles que foram lentos demais ou teimosos demais. Tendo chegado tão perto da morte, Constance hesitou em acreditar que o resgate estava próximo, até confirmar ela mesma. Ajoelhada no assento à janela, ela viu enquanto o último dos rebeldes fugia. Mas não teve tempo de saborear seu alívio, pois então reconheceu o homem no comando dos cavaleiros. Como que sentindo os olhos dela, ele olhou na sua direção e logo a reconheceu com um gesto cortês apenas levemente identificado pela espada ensanguentada em sua mão. – Bom Deus – sussurrou Constance, sentando-se no assento. Martina estava ao seu lado e, quando perguntou quem era, Constance conseguiu dar um leve sorriso infeliz. – Seu nome é Elias de Gesualdo, e ele é ao mesmo tempo minha salvação e minha derrocada. Chegou bem a tempo de salvar nossas vidas, mas pela manhã ele me colocará nas mãos de seu tio, Tancredo de Lecce.
Os quatro meses seguintes foram difíceis para Constance. Ela conhecia Tancredo suficientemente bem para ter certeza de que seria tratada com gentileza, e foi. Tancredo e sua rainha, Sybilla, agiram como se ela fosse uma hóspede de honra em vez de prisioneira, embora sob constante vigilância discreta. Mas ela achava humilhante depender da misericórdia do homem que usurpara seu trono e não conseguia evitar comparar sua esterilidade com a fecundidade de Sybilla, mãe de dois filhos e três filhas. Ficou ainda mais mortificada quando Heinrich se recusou peremptoriamente a fazer qualquer concessão para conseguir sua liberdade. Não seria seu marido quem iria abrir a porta de sua prisão dourada. O papa Celestino concordou em dar a Tancredo o que ele mais queria – o reconhecimento papal de seu reinado –, mas em troca exigiu que Constance fosse colocada sob sua custódia. Tancredo concordou, relutante. E num dia de janeiro de 1192, Constance se viu cavalgando rumo a Roma na companhia de três cardeais e uma escolta armada. Ela não encontraria liberdade em Roma, pois o papa a via como uma refém valiosa em suas negociações com Heinrich, mas pelo menos não estaria vivendo no mesmo palácio que Tancredo e sua rainha. E uma estadia prolongada em Roma não seria totalmente ruim, pois não estava ansiosa para se encontrar com o homem que a colocara em tal perigo e depois não fizera nada para resgatá-la de um sofrimento que era culpa dele. Os cardeais pareciam desconfortáveis com seu papel de carcereiros e estabeleceram um ritmo que seria confortável para Constance e suas damas. Havia apenas três delas, Adela, Hildegund e Martina, pois suas damas sicilianas tinham escolhido permanecer em sua pátria, e depois do horror de Salerno Constance não podia culpá-las. Estavam na estrada havia várias horas quando Constance viu seu batedor galopar de volta para o grupo, expressão fechada. Estimulando sua égua a avançar, ela se juntou aos cardeais enquanto conferenciavam com ele. Quando parou ao lado, eles forçaram sorrisos, explicando que havia um grupo de homens de aparência suspeita à frente que podiam ser salteadores. Achavam melhor desviar e evitar um confronto. Constance concordou serenamente que de fato era melhor, seu rosto não revelando nada. Eles se esqueceram de que o latim era um dos idiomas oficiais da Sicília, e embora ela não fosse tão fluente quanto Heinrich, captara duas palavras na conversa que terminara abruptamente quando chegou perto – praesidium imperatoris. Não eram salteadores que eles temiam. Os homens à frente eram membros da guarda de elite imperial de Heinrich. Constance não sabia como estavam lá, mas isso não importava. Voltando para suas damas atrás, lhes disse que estivessem prontas para agir quando ela o fizesse. Já podia então ver os cavaleiros à distância. Quando os cardeais e seus homens saíram da estrada principal para uma trilha de terra que se afastava do rio Liri, Constance os seguiu. Esperou até que o guarda cavalgando ao seu lado passasse à frente de sua égua, e de repente chicoteou o traseiro do cavalo. O animal assustado disparou para a frente como se lançado por uma besta, e ela já estava a metros de distância antes que os cardeais e sua escolta se dessem conta do que estava acontecendo. Ouviu gritos e olhou para trás para ver que vários dos homens dos cardeais a perseguiam, seus garanhões ágeis o bastante para superar sua égua. Mas nesse momento os guardas imperiais cavalgavam na sua direção. Tirando o capuz de seu manto para que não houvesse dúvidas, ela gritou: – Eu sou sua imperatriz. Eu me coloco sob sua proteção. Os cardeais fizeram de tudo, raivosamente alertando os alemães de que iriam atrair a ira do Santo Padre sobre suas cabeças caso interferissem, insistindo em que a imperatriz estava sob custódia do papa. Os guardas imperiais se limitaram a rir deles. Constance e suas damas logo estavam se afastando com seus novos protetores, os cavaleiros excitados por terem recuperado tal prêmio, sabendo que sua sorte estava selada. As damas de Constance também estavam empolgadas.
Mas embora Constance tivesse uma triste sensação de satisfação, não partilhava do seu júbilo. Ela ainda era uma refém. Nem mesmo uma coroa imperial podia mudar isso.
Dois anos depois do encontro fortuito de Constance com os guardas imperiais de Heinrich, Tancredo estava morrendo em seu palácio de Palermo. Ele teve um fim amargo, pois seu filho de 19 anos morrera de repente em dezembro, deixando como seu herdeiro um menino de 4 anos. Ele sabia que o medo do Sacro Imperador Romano seria maior que a lealdade a uma criança. Ao descobrir a morte de Tancredo, Heinrich novamente liderou um exército que cruzou os Alpes e penetrou a Itália.
Em maio, quando chegou a Milão, Constance foi para a cama dizendo que precisava descansar antes da festa que seria dada à noite em sua homenagem pelo bispo de Milão. Adela estava preocupada com sua senhora havia algumas semanas, mas aquele reconhecimento explícito de fadiga, tão incomum em Constance, fez com que procurasse dama Martina. Assim que encontraram um local isolado longe de ouvidos indiscretos, ela confessou que temia que a imperatriz estivesse doente. Martina não ficou surpresa, pois também notara o pouco apetite de Constance, sua exaustão e palidez. – Eu falei com ela, mas insiste em que está bem – admitiu. – Temo que seu desânimo esteja afetando sua saúde. Ela deixou que as palavras morressem, certa de que Adela entenderia. Ambas sabiam que Constance estava preocupada com o que o futuro reservava para a Sicília e seu povo. Ela não chegara a dizer, mas não havia necessidade de colocar em palavras seus temores escondidos, pois conheciam o homem com quem ela tinha se casado. – Vou falar com ela novamente depois das festividades desta noite – prometeu, e Adela teve de se contentar com isso. Quando Adela retornou aos aposentos de Constance, ficou aliviada ao ver a imperatriz de pé e se vestindo, pois isso tornava mais fácil acreditar que não estava doente, apenas cansada. Assim que ficou pronta para descer ao grande salão onde Heinrich e o bispo de Milão a aguardavam, suas damas se empolgaram com a beleza de seu manto, seda da cor de um nascer do sol siciliano, com brocados, e joias que valiam o resgate de um rei, mas Constance se sentia um presente ricamente embalado que era vazio por dentro. Heinrich esperava impacientemente. – Você está atrasada – murmurou enquanto ela passava seu braço pelo dele. Haviam tido uma das piores brigas de seu casamento duas semanas antes, e a tensão ainda era visível. Fizeram uma trégua, eram civilizados em público e privadamente, mas nada mudara. Ainda divergiam quanto a Salerno. Constance concordava em que os salernitanos mereciam punição. Teria ficado satisfeita em derrubar as muralhas da cidade e impor uma pesada multa aos habitantes, pois tinham agido por terror, não por traição. Heinrich via de outro modo, dizendo que tinham para com ele uma dívida de sangue e que pretendia cobrá-la. Constance achava que o ódio implacável dele para com os homens e mulheres de Salerno era um fogo alimentado por sua consciência de ter cometido um grande erro, um erro que nunca iria reconhecer. Mas, a despeito de sua raiva, não apelara para essa arma, sabendo que isso se voltaria contra si mesma. Naquele momento, olhando para ele de soslaio, ela sentiu um toque de cansado ressentimento, depois esboçou um sorriso para o homem que se aproximava deles. Ela conhecera o bispo de Milão dois anos antes em Lodi, e era bastante fácil se valer dessas lembranças para uma conversa educada. Estava acostumada a essa conversa fiada social. Mas dessa vez seria diferente. Mal tivera a chance de ver seu cumprimento floreado quando o chão pareceu se mover sob seus pés, como se de repente estivesse no convés de um navio. Começou a dizer que precisava se sentar, mas era tarde demais. Já estava rodopiando para a escuridão.
Constance se acomodou nos travesseiros, observando enquanto Martina examinava um frasco de sua urina. Não fizera perguntas durante o exame da médica – não tinha certeza se queria as respostas pois havia algum tempo desconfiava de que poderia estar gravemente doente. Estava prestes a pedir vinho quando a porta se abriu e seu marido entrou, seguido por um homem cuja aparição nos aposentos da imperatriz, sem ser convidado, chocou suas damas. – Quero que meu médico a examine – anunciou Heinrich sem preâmbulos. – Você obviamente está doente e precisa de cuidados que esta mulher não pode oferecer. Constance se sentou na cama. – “Esta mulher” é uma médica formada, Heinrich. Eu quero que ela cuide de mim – disse, e, incapaz de resistir a um pequeno golpe, acrescentou: – Ela estudou em Salerno e estava comigo durante o ataque ao palácio, momento em que demonstrou coragem e lealdade. Eu confio no seu julgamento. Ele conseguiu dar um sorriso que nunca chegou aos olhos. – Estou certo de que é competente para males femininos. Ainda assim, quero que mestre Conrad assuma seu tratamento. Devo insistir, minha querida, pois sua saúde é muito importante para mim. Disso Constance não duvidava; seria constrangedor para Heinrich caso ela morresse antes que ele pudesse ser coroado rei da Sicília, pois não teria nenhum direito ao trono a não ser pelo direito de conquista. – Não – repetiu ela secamente, e viu um músculo se contrair no rosto dele, enquanto os olhos se apertavam. Mas Martina escolheu aquele momento para intervir. – Embora eu esteja gratificada com a fé da imperatriz em minhas habilidades, estou certa de que mestre Conrad é um médico de renome. Mas não há necessidade de outra opinião. Já sei o que causou o desmaio da imperatriz. Heinrich não se preocupou em disfarçar seu ceticismo. – De fato sabe? Martina o olhou com calma. – Sim. A imperatriz está grávida.
Constance engasgou, os olhos arregalando. Heinrich não ficou menos chocado. Esticando a mão, ele agarrou o braço de Martina. – Você tem certeza? Que Deus a proteja se estiver mentindo! – Heinrich! – protestou Constance inutilmente. Martina olhou nos olhos de Heinrich sem piscar, e depois de um momento ele a soltou. – Tenho certeza – disse Martina, confiante, e dessa vez dirigiu suas palavras a Constance: – Segundo minha avaliação, você será mãe antes que o ano termine. Constance recostou, fechando os olhos. Quando os abriu novamente, Heinrich estava curvado sobre a cama. – Você precisa descansar agora – falou. – Não pode fazer nada que coloque o bebê em risco. – Você terá de continuar sem mim, Heinrich, pois devo viajar muito lentamente. Ele concordou tão prontamente que ela se deu conta de que tinha poder, pela primeira vez em seu casamento. Ele se inclinou ainda mais, os lábios tocando sua bochecha e, quando se empertigou, disse a Martina que sua esposa deveria ter tudo o que quisesse e que suas ordens deveriam ser obedecidas imediatamente, como se vindas de sua própria boca. Chamando mestre Conrad, que estivera desajeitadamente passando o peso de um pé para o outro, foi na direção da porta. Ali parou e, olhando para Constance, riu, um som tão raro que as mulheres todas se assustaram, como se ouvindo um trovão num céu claro sem nuvens. – Deus de fato me abençoou – falou ele, exultante. – Quem pode duvidar que minha vitória na Sicília está garantida? Assim que a porta se fechou atrás dele, Constance esticou a mão na direção de Martina, os dedos se cruzando. – Você tem certeza? Ela ecoava as palavras de Heinrich, mas as dele tinham sido uma ameaça; as suas eram ao mesmo tempo uma súplica e uma prece. – Sim, minha senhora, estou certa. Você me disse que seu último fluxo foi em março. Nunca pensou... – Não... Meus fluxos foram irregulares no último ano, ou dois. Pensei... Temi que pudesse estar chegando àquela idade em que uma mulher não mais consegue conceber. Contudo, era mais que isso. Ela não pensara que poderia estar grávida porque não tinha mais esperanças. Adela estava chorando, chamando-a de “meu cordeiro”, como se estivesse de volta ao berçário. Hildegund caíra de joelhos, agradecendo ao Todo-Poderoso, e Katerina, a mais jovem de suas damas, dançava pelo aposento, os pés leves como uma folha soprada pelo vento. Constance queria chorar, rezar e dançar, também. Em vez disso, riu, o riso da garota despreocupada que um dia fora em sua juventude, quando o mundo era repleto de sol tropical e ela nunca imaginara qual seria o seu destino – o exílio numa terra estrangeira gelada e um casamento que era tão estéril quanto seu útero. Dispensando as outras para que retornassem às festividades, pois ela queria apenas Adela e Martina consigo, colocou a mão sobre a barriga, tentando imaginar a pequena entidade que então partilhava seu corpo. Sua alegria era tanta que finalmente podia dizer a verdade. – Eu não celebrei a morte de Tancredo – confidenciou. – Não podia, pois sabia o que isso significaria para a Sicília. Ela se tornaria outro apêndice do Sacro Império Romano, suas riquezas seriam saqueadas, sua independência, terminada, e sua própria identidade, perdida. Mas agora... agora ela será passada ao meu filho. Ele irá governar a Sicília como meu pai e meu sobrinho fizeram. Ele será mais que seu rei. Será seu salvador. Com isso, Adela começou a chorar descontroladamente, e Martina se viu sorrindo em meio às lágrimas. – Você deveria pelo menos considerar, madame, que pode ter uma filha. Constance riu de novo. – E eu daria as boas-vindas a uma, Martina. Mas esta criança será menino. O Todo-Poderoso nos abençoou com um milagre. Como mais eu ficaria grávida no meu aniversário de 41 anos após um casamento de oito anos estéreis? É a vontade de Deus que eu dê à luz um filho.
A despeito de sua euforia, Constance estava bem consciente de que as chances não estavam a seu favor; na sua idade ter um primeiro filho implicava riscos consideráveis, com aborto e morte no parto sendo perigos muito reais. Ela escolheu passar os meses mais perigosos da gravidez num mosteiro de freiras beneditinas em Milão e, quando retomou suas viagens, realizou-as em fases. Ela escolhera a cidade italiana de Jesi para o parto. Localizada no cume de uma colina debruçada sobre o rio Esino, tinha muralhas fortificadas e era amistosa ao Sacro Império Romano; Heinrich lhe dera seus guardas imperiais, mas Constance não iria correr o risco de outra Salerno. Embora tivesse sido poupada de muito da náusea matinal que tantas mulheres suportavam, sua gravidez não foi fácil. Seus tornozelos e pés estavam muito inchados, os seios, muito doloridos e sensíveis, e se sentia exausta o tempo todo, sofrendo de dores de cabeça, azia, falta de ar e mudanças repentinas de humor. Mas parte de sua ansiedade passou ao chegar a Jesi, pois Martina lhe garantiu que era mais improvável um aborto espontâneo nos últimos meses. Também ficou encantada com a simpatia dos cidadãos de Jesi, que pareciam verdadeiramente contentes pela escolha dela de ter o filho em sua cidade, e quando novembro deu lugar a dezembro ela estava mais calma que em qualquer outro momento de sua gravidez. O exército de Heinrich encontrara pouca resistência, e a rendição de Nápoles em agosto provocou uma deserção em massa das fileiras da rainha cativa de Tancredo e seu jovem filho. Constance ficou perturbada ao saber da vingança sangrenta que Heinrich impusera a Salerno em setembro, mas seguiu o alerta de Martina de que perturbação demais poderia fazer mal ao bebê e tentou afastar da mente imagens de casas incendiadas, corpos, viúvas sofrendo e crianças aterrorizadas. Em novembro, ficou encantada com a chegada de Baldwin, Miguel e vários de seus cavaleiros. Quando Heinrich tomou Salerno, eles tinham sido libertados do cativeiro e enviados para Jesi. Constance brincou com Martina que seu casamento teria sido mais feliz caso tivesse passado o tempo todo grávida; àquela altura elas eram mais que médica e paciente, partilhando os rigores de sua gravidez como tinham partilhado os perigos em Salerno. Em dezembro, Constance soube que Heinrich entrara em Palermo, e Sybilla se rendera com sua promessa de que a família ficaria em segurança e seu filho poderia herdar as terras de Tancredo em Lecce. Constance não conseguia deixar de sentir simpatia por Sybilla e ficou contente com a surpreendente leniência dos termos de Heinrich. Estava hospedada no palácio do bispo de Jesi, e celebraram a futura coroação de Heinrich com um banquete tão grandioso quanto permitia o Advento. Mais tarde naquele dia, o clima ameno lhe deu a tentação de um passeio pelos jardins. Acompanhada por Hildegund e Katerina, ela estava sentada em um caramanchão de treliça quando houve uma grande agitação no jardim e vários homens jovens entraram, jogando uma bola de bexiga de porco de um lado para o outro. Constance os reconheceu: um dos secretários do bispo e dois dos cavaleiros de Heinrich que tinham recebido a missão de levar a ela a notícia de seu triunfo. Pousando seu bordado, ela sorriu do seu comportamento agitado, pensando que um dia seria seu filho jogando bola com os amigos. – O imperador foi verdadeiramente abençoado por Deus este ano – disse um deles. Constance não podia mais vê-los, mas conhecia suas vozes. O que falara era Pietro, o secretário, que continuou com a pergunta retórica de quantos homens ganhavam uma coroa e um herdeiro no mesmo ano. – Permita Deus que a imperatriz dê à luz um filho. Houve uma gargalhada dos cavaleiros de Heinrich, e quando Pietro falou novamente, soava confuso. – Por que estão rindo? Afinal de contas, está nas mãos do Todo-Poderoso. – Você é realmente inocente – constatou Johann, o mais velho dos cavaleiros. – Acha mesmo que o imperador teria tanto trabalho para assegurar um herdeiro e então apresentar ao mundo uma menina? Só quando os porcos voarem! A cabeça de Constance se levantou rapidamente e ergueu a mão pedindo silêncio quando Katerina pensou em falar. – Não entendo o que você quer dizer – falou Pietro, e havia um tom de preocupação em sua voz. – Sim, você entende. Apenas tem medo de dizer em voz alta. Depois de oito anos, lorde Heinrich sabia muito bem que tinha sido amaldiçoado com uma esposa estéril. E então, de repente, essa gravidez milagrosa. Por que acha que a imperatriz escolheu esta cidade esquecida por Deus, num verdadeiro fim de mundo, para dar à luz? Teria sido muito mais difícil em Nápoles ou Palermo, olhos desconfiados demais. Aqui será fácil. Correrá a notícia de que as contrações começaram e, sob a proteção da noite, o bebê será trazido... Talvez um dos bastardos de Heinrich, e os sinos da igreja badalarão alegremente com a notícia de que o imperador tem um filho robusto e saudável. Constance prendeu a respiração, a mão apertando o bordado; sequer sentiu a agulha furando a palma da mão. Katerina ruborizou e ia avisar à rainha quando Hildegund segurou seu braço. – Você tomou muito vinho no jantar, meu caro – afirmou Pietro, cordialmente, arrancando mais risadas dos outros.
Quando Constance saiu do caramanchão, Pietro a viu primeiro e fez uma grande mesura. – Madame! O sangue sumiu do rosto de Johann, deixando-o mais branco que uma vela votiva. – Ma-madame. E-eu lamento muito! Era apenas uma brincadeira. Como... como Pietro disse, eu tomei vinho demais. Com a pressa, suas palavras saíram pastosas e sua voz, aguda e trêmula. – De verdade, eu tinha de estar bêbado para fazer piada tão vil... A voz de Constance era como gelo, se gelo pudesse queimar. – Fico pensando se o senhor meu marido achará sua brincadeira tão divertida quanto você acha. Johann soltou um som estrangulado, depois se jogou de joelhos. – Madame... Por favor – suplicou ele. – Por favor... Eu lhe suplico, não conte a ele. Constance olhou abaixo para ele até que começasse a soluçar, depois deu meia-volta e foi embora. Johann desabou no chão, com Pietro e o outro cavaleiro ainda paralisados onde estavam. Hildegund olhou feio para o cavaleiro que chorava, depois foi apressada atrás de Constance, com Katerina logo atrás. – Ela irá contar ao imperador? – sussurrou, sentindo uma pontada de pena imerecida pelo completo terror de Johann. Hildegund balançou a cabeça. – Acho que não – disse, muito baixo, depois completou: – Maldito seja por toda a eternidade aquele bastardo imaturo e idiota por isso! De todas as coisas que nossa senhora podia ouvir quando chega a sua hora...
– Que importância tem o que um idiota como aquele pensa? Constance não deu atenção. Estava andando de um lado para o outro, agitada, proferindo uma sequência de xingamentos que suas damas não sabiam que conhecia. Mas quando ficou pálida e começou a ofegar, Martina passou um braço sobre seus ombros e a conduziu até uma cadeira. Voltou alguns momentos depois com uma taça de vinho, colocou-a na mão de Constance. – Beba isto, minha senhora. Irá acalmar seus nervos. Adela está certa: está se aborrecendo por nada. Com certeza, sabia que haveria conversas maldosas como essa, homens ansiosos para esperar o pior do imperador? Constance pousou a taça tão de repente que caiu vinho em sua manga. – Claro que eu sabia, Martina! Heinrich tem mais inimigos do que Roma tem padres. Mas você não vê? Eram seus próprios cavaleiros, homens que juraram morrer por ele caso necessário. Se mesmo eles duvidam de minha gravidez... Adela se ajoelhou ao lado da cadeira, fazendo um esgar quando seus velhos ossos protestaram. – Isso não importa – repetiu, teimosa. – Falatório de gralhas, nada além disso. O ultraje de Constance dera lugar ao desespero. – Isso importa! Meu filho virá ao mundo envolto numa sombra, sob suspeita. As pessoas não acreditarão que ele é verdadeiramente minha carne, o herdeiro legítimo da coroa siciliana. Terá de passar a vida inteira lutando contra calúnias e difamação. Rebeldes poderão usar isso como pretexto para se erguer contra ele. Um papa hostil poderá muito bem declará-lo ilegítimo. Ele nunca estará livre de murmúrios, de dúvidas... – falou, e fechou os olhos, lágrimas começando a escorrer por seus cílios. – E se ele mesmo acreditar nisso... Adela também começou a chorar. Martina pegou o braço de Constance e gentilmente, mas com firmeza, a colocou de pé. – Como disse, isso não serve para nada. Mesmo que você esteja certa e seus temores sejam justificados, não há nada que possa fazer para eliminar a fofoca. Agora quero que se deite e descanse um pouco. Deve pensar no bem de seu filho enquanto está em seu ventre, não no que ele poderá ter de enfrentar nos anos por vir. Constance não discutiu; deixou que elas a colocassem na cama. Mas não dormiu, permanecendo acordada enquanto o céu escurecia e depois voltava lentamente a se colorir de luz, ouvindo a voz de Johann enquanto debochava da própria ideia de que a esposa envelhecida e estéril de Heinrich pudesse conceber.
Baldwin estava desconfortável, pois não era adequado ser convocado aos aposentos particulares de sua senhora; estava certo de que Heinrich não aprovaria. – Mandou me chamar, madame? – perguntou, tentando esconder seu desalento com a aparência perturbada e pálida da imperatriz. – Tenho uma tarefa para você, sir Baldwin – disse Constance, sentada numa cadeira, as mãos cruzadas com tanta força que sua aliança feria a carne. – Quero que erga um pavilhão na praça. E depois quero que coloque homens na rua dizendo às pessoas que terei meu parto ali, naquela barraca, e que as matronas e donzelas de Jesi estão convidadas para o nascimento do meu filho. Baldwin ficou de queixo caído; por mais que se esforçasse, não conseguia pensar em nada a dizer. Mas as damas de Constance não ficaram sem fala e começaram um protesto escandalizado. Ela as escutou, depois disse a Baldwin para garantir que sua ordem fosse obedecida. Ele já vira aquela expressão no rosto dela uma vez, quando estava prestes a sair para aquela varanda em Salerno, então se ajoelhou, beijando sua mão. – Assim será feito, madame. Adela, Hildegund e Katerina tinham ficado abatidas, olhando para ela em silêncio chocado. Martina se curvou sobre a cadeira, murmurando: – Tem certeza de que quer fazer isto? Constance sibilou por entredentes. – Por Cristo na cruz, Martina! É claro que eu não quero fazer isto! – falou, erguendo a cabeça, e acrescentando: – Mas eu farei isto! Farei isto por meu filho.
.
.
.
CONTINUA
.
.
.
No dia seguinte ao Natal, a praça estava lotada como se fosse um dia de feira. Havia um clima festivo, pois os homens da cidade sabiam que testemunhavam algo extraordinário – ou pelo menos suas esposas. Eventualmente, uma delas saía da tenda para contar que tudo estava indo como devia, depois desaparecia novamente do lado de dentro. Os homens brincavam, fofocavam e faziam apostas sobre o sexo da criança que lutava para nascer. Dentro da tenda, o clima era bastante diferente. Inicialmente as mulheres de Jesi estavam excitadas, sussurrando entre elas, se sentindo como espectadoras de uma peça de Natal. Mas quase todas elas tinham as próprias experiências de parto, suportando o que Constance estava sofrendo naquele momento, e, enquanto a observavam se contorcer no banco de parto, sua pele coberta de suor, o rosto distorcido de dor, começaram a se identificar com ela, a esquecer que era uma imperatriz, nascida nobre, rica e privilegiada além de seus maiores sonhos. Elas tinham a honra de testemunhar um acontecimento histórico. E se viam então a estimulando como se fosse uma delas, pois eram todas filhas de Eva, e no que dizia respeito a parto, irmãs sob a pele. Martina estava consultando duas das parteiras da cidade, as vozes baixas, os rostos concentrados. Adela estimulava Constance a engolir uma colherada de mel, dizendo que lhe daria forças, e ela se forçou a aceitar sobre a língua. Ela sabia por que estavam tão preocupadas. Quando a água correra, elas lhe disseram que isso significava que o nascimento estava perto, mas suas dores continuaram, ficando mais severas, e não lhe parecia que havia progressos. – Eu quero Martina – murmurou ela e, quando a médica voltou para seu lado, agarrou o pulso da mulher. – Lembre-se... Se não puder salvar os dois, salve meu filho. Suas palavras eram fracas e morriam, mas seus olhos queimavam tão intensamente que Martina não conseguiu desviar os dela. – Prometa... – insistiu. – Prometa. E a outra mulher concordou, não confiando em sua voz. O tempo não fazia mais sentido para Constance; não havia mundo além dos limites abafados daquela tenda.
.
.
.
.
Elas lhe deram vinho misturado com casca de cássia imperial, ergueram sua chemise suja para massagear sua barriga, ungiram suas partes íntimas com óleo de tomilho quente e, quando ela continuou a lutar, algumas das mulheres saíram para rezar por ela na igreja junto à praça. Mas Martina continuava insistindo em que seria logo, que seu útero estava dilatando, segurando a fé como uma vela para expulsar a escuridão, e depois de uma eternidade Constance a ouviu gritar que conseguia ver a cabeça do bebê. Ela fez força mais uma vez, e os ombros do filho estavam livres. – De novo – estimulou Martina, e então um corpinho, pele vermelha e enrugada, escorreu para fora num jorro de sangue e muco, para as mãos da parteira, que esperavam. Constance caiu para trás, prendendo a respiração até ouvir o miado suave que provava que seu bebê vivia. O sorriso de Martina era radiante como o nascer de um sol. – Um menino, Madame! Você tem um filho! – Passe para mim... – falou Constance fracamente. Ainda havia muito a fazer. O cordão umbilical tinha de ser amarrado e cortado. O bebê devia ser limpo e esfregado com sal antes de envolvido. A placenta tinha de ser expelida e depois enterrada para não atrair demônios. Mas Martina sabia que tudo isso podia esperar. Pegando o bebê, ela o colocou nos braços da mãe, e enquanto viam Constance segurar o filho pela primeira vez poucas das mulheres tinham os olhos secos.
Quando seis dias depois correu a notícia de que a imperatriz iria apresentar o filho ao público, a praça ficou lotada horas antes do horário marcado. Os homens tinham ouvido das esposas as histórias do nascimento e estavam ansiosos para ver eles mesmos a criança milagrosa; afinal, ele era natural de Jesi, brincavam, um dos seus. A multidão se abriu quando a liteira de Constance entrou na praça, e eles aplaudiram educadamente enquanto ela era ajudada a descer e se movia devagar até a cadeira que a aguardava. Assim que estava sentada, ela fez um gesto e Martina lhe deu uma pequena forma enrolada. Constance abriu o cobertor, revelando uma cabeça com finos cabelos avermelhados. Com a criança agitando os pequenos punhos, ela o ergueu para que todos vissem. – Meu filho, Frederick – apresentou ela, alto e claro. – Que um dia será o rei da Sicília. Eles aplaudiram novamente e sorriram quando Frederick de repente soltou um grito forte. Constance também sorriu. – Acho que ele está com fome – disse, e as mães na multidão concordaram, experientes, olhando ao redor em busca da mãe de leite; damas bem-nascidas como Constance não amamentavam os próprios bebês. Elas ficaram chocadas com o que aconteceu a seguir. As damas da imperatriz se adiantaram, temporariamente bloqueando a visão da multidão. Quando se colocaram de lado, a multidão engasgou, pois Constance havia aberto o manto, ajustado o corpete e começado a amamentar o filho. Quando as pessoas da cidade se deram conta do que ela estava fazendo – oferecendo uma última prova incontestável e pública de que aquele era um filho do seu corpo, sua carne e seu sangue – começaram a aplaudir forte. Mesmo aqueles hostis ao marido alemão de Constance se juntaram, pois ...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades