



Biblio VT
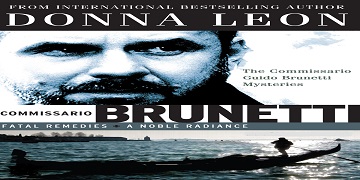
Series & Trilogias Literarias




Quando a campainha tocou, Brunetti se refestelava no sofá da sala de estar, com um livro aberto em cima da barriga. Sozinho no apartamento, sabia que tinha de levantar e atender, mas antes queria acabar de ler o oitavo capítulo da Anabasis, pois queria saber quais novos desastres aguardavam os gregos que batiam em retirada. A campainha tocou uma segunda vez, dois toques insistentes, breves. Ele pôs o livro de lado, tirou os óculos, colocou-os no braço do sofá e levantou. Seus passos eram lentos, apesar da insistência com que a campainha havia soado. Era sábado de manhã, seu dia de folga, a casa era toda sua, Paola tinha ido ao Rialto à procura de caranguejos de casca mole, e a campainha precisava tocar justamente naquele momento.
Imaginou que seria um dos amiguinhos de seus filhos, à procura de Chiara ou Raffi ou então, o que era pior, um dos portadores da verdade religiosa que amavam interromper o repouso de um homem trabalhador.
Pedia à vida nada além de ficar deitado de costas, lendo Xenofonte enquanto aguardava sua mulher voltar para casa com os caranguejos de casca mole.
“Pois não?”, ele disse ao atender o interfone, num tom de voz pouco acolhedor, com o objetivo de desencorajar jovens desocupados e despachar os propagandistas de qualquer fé.
“É Guido Brunetti?”, perguntou uma voz masculina.
“Sim. De que se trata?”
“Sou do Ufficio Catasto. É sobre seu apartamento.” Quando Brunetti não disse nada, o homem indagou: “O senhor recebeu nossa carta?”.
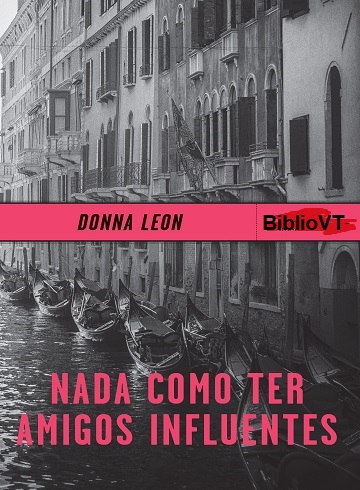
Brunetti se lembrou de ter recebido um documento havia um mês e pouco, um papel repleto de frases complicadas e burocráticas, algo relativo à documentação do apartamento ou à construção do prédio. Não
conseguia recordar muito bem. Dera apenas uma rápida olhada no documento, se arrepiando com a redação repleta de fórmulas. Depois enfiou o papel de volta no envelope e o deixou dentro da grande travessa
de cerâmica em cima da mesa, à direita da porta.
“O senhor recebeu nossa carta?”, o homem voltou a perguntar.
“Recebi, sim”, respondeu Brunetti.
“Vim conversar a respeito dela.”
“De que se trata?”, perguntou Brunetti, erguendo o ombro para manter o fone colado à orelha esquerda e se curvando para alcançar a pilha de papéis e envelopes que estavam na travessa.
“É sobre seu apartamento”, o homem respondeu. “É sobre o que escrevemos na carta.”
“É claro, é claro”, disse Brunetti, remexendo nos papéis e envelopes.
“Gostaria de conversar com o senhor, se for possível.”
Brunetti foi pego desprevenido pela solicitação e acabou concordando. “Está bem.” Apertou o dispositivo que abriria o portone, quatro andares abaixo. “É no último andar.”
“Eu sei”, respondeu o homem.
Brunetti pôs o telefone no gancho e pinçou alguns envelopes que estavam bem embaixo na pilha. Havia uma conta de luz, um cartão-postal das Ilhas Maldivas que ainda não tivera a oportunidade de ver. E lá
estava o tal envelope, com o nome do Ufficio Catasto em letras azuis, à esquerda e no alto. Tirou dele um papel, desdobrou-o, aproximou-o para melhor focalizar o que nele estava escrito, e leu rapidamente.
As mesmas expressões impenetráveis prenderam sua atenção: “De acordo com o Número Estatutário 1684-B da Comissão do Patrimônio Histórico; com referência ao Parágrafo 2784 do Artigo 127 do Código Civil
de 24 de junho de l948, subseção 3, parágrafo 5”; “Deixou de apresentar ao departamento a documentação adequada”; “Valor calculado de acordo com o subparágrafo 34-V-28 do decreto de 21 de março de 1947”.
Brunetti correu os olhos pelo resto da primeira página e passou para a segunda, com mais cifras e com os mesmos termos oficiais. Escolado na burocracia de Veneza, sabia que algo poderia estar oculto no
último parágrafo. Leu-o e aí estava a informação de que ele deveria aguardar novo contato do Ufficio Catasto. Voltou para a primeira página, mas o significado que espreitava atrás daquelas palavras, fosse
qual fosse, continuava a escapar dele.
Como estava bem perto da entrada, ouviu os passos no último lance da escada e abriu a porta antes que a campainha soasse. O homem ainda se aproximava, tinha levantado a mão para bater e a primeira coisa
que Brunetti notou foi o nítido contraste entre o punho erguido e o rapaz com ar despretensioso que se encontrava diante dele. O jovem, sobressaltado com a súbita abertura da porta, não disfarçava a surpresa.
Seu rosto era comprido, tinha o nariz afilado tão comum entre os venezianos. Os olhos eram castanho-escuros, o cabelo era castanho e parecia ter sido cortado recentemente. Trajava um terno que poderia
ter sido azul, mas que poderia também ter sido cinza. A gravata, escura, tinha um padrão miúdo e indistinguível. Trazia na mão direita uma surrada pasta de couro marrom, a qual condizia com a aparência
de todo burocrata cinzento com que Brunetti teve de tratar, como se parte de sua formação profissional fosse a arte de se tornarem invisíveis.
“Franco Rossi”, ele disse, passando a pasta para a mão esquerda e estendendo a direita.
Brunetti apertou-a rapidamente e deu um passo atrás, convidando-o a entrar.
Rossi, educado, pediu licença e entrou no apartamento. Ficou à espera de que Brunetti indicasse aonde deveria ir.
“Por aqui, faça o favor”, disse Brunetti, levando-o para a sala em que estava lendo. Brunetti foi até o sofá, fechou o livro usando um tíquete de vaporetto como marcador e colocou-o em cima da mesa. Fez
um gesto, indicando a Rossi que se sentasse diante dele e se acomodou no sofá.
Rossi se sentou na beirada da cadeira e pôs a pasta em cima dos joelhos. “Sei que hoje é sábado, signor Brunetti, e, portanto, farei o possível para não tomar seu tempo.” Olhou para Brunetti e sorriu.
“O senhor recebeu nossa carta, não é mesmo? Espero que tenha tido tempo de examiná-la, signore”, disse com outro leve sorriso. Em seguida abaixou a cabeça e abriu a pasta. Tirou dela um volumoso dossiê
azul, colocou-o cuidadosamente em cima da pasta e deu uns tapinhas num papel que estava quase escapando até que ele voltasse para o lugar.
“Para dizer a verdade”, declarou Brunetti, tirando a carta do bolso onde a tinha metido antes de abrir a porta, “estava justamente relendo-a e devo dizer que acho seus termos um tanto incompreensíveis.”
Rossi ergueu a cabeça e Brunetti notou um lampejo de genuína surpresa no rosto dele. “É mesmo? Pensei que tudo tinha ficado muito claro.”
Brunetti sorriu afavelmente e disse: “Tenho certeza de que é claro para aqueles que, como o senhor, lidam com essas questões todos os dias. Entretanto, para aqueles que não têm familiaridade com a linguagem
ou terminologia particular do meio, torna-se um tanto difícil entender”. Rossi não disse nada e Brunetti acrescentou: “Tenho plena certeza de que todos nós conhecemos a linguagem de nossa própria burocracia.
Talvez seja somente quando passamos para outra que a dificuldade surge”. Ele voltou a sorrir.
“Com qual burocracia tem familiaridade, signor Brunetti?”, perguntou Rossi.
Como não tinha o hábito de anunciar aos quatro ventos que era policial, Brunetti apenas declarou: “Estudei direito”.
“Certo”, disse Rossi. “Eu não seria levado a pensar que nossa terminologia fosse muito diferente da sua.”
“Talvez não seja mais do que minha falta de familiaridade com os códigos civis a que se refere em sua carta”, disse Brunetti com leveza.
Rossi pensou naquelas palavras por um momento e declarou: “Sim, é inteiramente possível, mas então o que é que o senhor não entende?”.
“Seu significado”, respondeu Brunetti sem hesitar, pois não desejava mais fingir que entendia.
Mais uma vez aquele ar intrigado, que fazia com que Rossi parecesse quase um rapazinho. “Perdão, como assim?”
“O que a carta significa. Li, porém como não tenho a menor ideia, conforme lhe disse, da natureza das regulamentações a que ela se refere, ignoro seu significado, a que ela se aplica.”
“A seu apartamento, é claro”, respondeu Rossi rapidamente.
“Sim, isso eu entendi”, disse Brunetti num tom de voz que ele se esforçou para parecer paciente. “Como a carta veio de seu departamento, pelo menos isso eu entendi. O que não compreendo é qual o interesse
que seu departamento poderia ter por meu imóvel.” E ele também não compreendia por qual motivo um funcionário daquele departamento escolheu visitá-lo justo num sábado.
Rossi olhou para a pasta em seu colo e em seguida para Brunetti, que de repente ficou surpreendido ao notar como eram longos e compridos os cílios do rapaz, como os de uma mulher. “Pois não, pois não”,
disse Rossi, voltando a olhar para a pasta. Abriu-a, tirou dela uma pasta menor, estudou sua etiqueta durante um instante e entregou-a a Brunetti, dizendo: “Talvez isso ajude a tornar as coisas mais claras”.
Antes de fechar a pasta que ainda estava em seu colo, alinhou cuidadosamente os papéis que se encontravam dentro dela.
Brunetti abriu a pasta e tirou os papéis. Ao constatar como a letra era pequena, inclinou-se para a esquerda e pegou os óculos. No alto da primeira página constava o endereço do prédio. Nela havia plantas
dos apartamentos situados abaixo do seu. Na página seguinte estava uma lista de antigos proprietários daqueles imóveis, começando pelos depósitos do andar térreo. As duas páginas seguintes continham o
que pareciam ser relatórios concisos das reformas realizadas em todos os apartamentos do prédio desde 1947, com as datas em que algumas permissões foram solicitadas e concedidas, a data em que o trabalho
se iniciou e a data da aprovação final, quando as reformas chegaram ao fim. Não havia menção alguma a seu apartamento, o que sugeriu a Brunetti que a informação deveria constar dos papéis ainda em posse
de Rossi.
Pelo que conseguia entender, Brunetti se deu conta de que o apartamento logo abaixo deles tinha sido reformado em 1977, quando os atuais moradores mudaram para lá. Isto é, foi o último apartamento a ser
oficialmente reformado. Ele e Paola haviam jantado com os Calista em algumas ocasiões e muito lhes agradara as largas janelas da sala de estar, com vista quase desimpedida. No entanto, a planta indicava
que as janelas eram bem pequenas, e somente quatro, não seis. Brunetti reparou que o pequeno lavabo à esquerda do hall de entrada do apartamento dos Calista não estava indicado em lugar algum. Ficou curioso
para saber o motivo daquilo, mas com toda a certeza Rossi não era a pessoa a quem fazer aquela pergunta. Quanto menos o Ufficio Catasto tivesse conhecimento do que foi acrescentado ou modificado no interior
do prédio, melhor seria para todos que moravam ali.
Dirigindo um olhar distraído para Rossi, Brunetti perguntou: “Esses registros se referem a datas muito antigas. Tem ideia de quando o prédio foi construído?”.
Rossi balançou a cabeça. “Não posso afirmar com precisão, mas pela localização e pelas janelas do andar térreo eu diria que a estrutura original data do final do século XV, não antes.” Fez uma pausa, refletiu
um pouco e acrescentou: “Eu diria que o último andar foi acrescentado no começo do século XIX”.
Dessa vez Brunetti encarou Rossi, surpreendido. “Não, foi muito depois disso. Foi depois da guerra”. Como Rossi não disse nada ele acrescentou: “A Segunda Guerra Mundial”.
Como Rossi insistia em não reagir, Brunetti perguntou: “Não lhe parece que é verdade?”.
Após um momento de hesitação, Rossi declarou: “Eu estava me referindo ao último andar”.
“E eu também”, disse Brunetti com alguma rispidez, aborrecido com o fato de que aquele funcionário de um departamento que lidava com alvarás de construção não entendesse algo tão simples. Diminuiu o tom
de voz e prosseguiu: “Quando adquiri este apartamento, entendi que ele foi acrescentado após a última guerra e não no século XIX”.
Em vez de responder, Rossi acenou para os papéis que ainda estavam na mão de Brunetti. “Talvez o senhor pudesse examinar melhor a última página, signor Brunetti.”
Intrigado, Brunetti releu os últimos parágrafos, mas, pelo que conseguiu entender, eles diziam respeito unicamente aos dois apartamentos situados abaixo do seu. “Não sei o que quer que eu veja exatamente,
signor Rossi”, ele declarou, tirando os óculos. “Isso diz respeito ao apartamento de baixo, não ao nosso. Não existe menção alguma a este andar.” Virou o papel para ver se havia algo escrito no verso,
mas estava em branco.
“Foi por isso que eu vim”, disse Rossi, endireitando-se na cadeira enquanto falava. Inclinou-se, pôs a pasta de couro no chão à esquerda dos pés e manteve no colo a pasta com papéis.
“É mesmo?” Brunetti entregou o papel para ele.
Rossi pegou-o, guardou-o cuidadosamente e abriu a pasta maior. “Parece que há dúvidas sobre o status oficial de seu apartamento.”
“Status oficial?”, repetiu Brunetti, desviando o olhar para a esquerda de Rossi, contemplando a parede sólida e depois o teto, igualmente sólido. “Acho que eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer.”
“Há algumas dúvidas sobre o apartamento”, declarou Rossi com um sorriso que Brunetti interpretou como um pouco de nervosismo. Antes que ele pudesse solicitar novamente um esclarecimento, Rossi prosseguiu.
“Não existem documentos no Ufficio Catasto que atestem a concessão de alvarás para todo este andar ou mesmo que eles foram aprovados quando ele foi construído ou…” Ele voltou a sorrir. “Se é que ele foi
construído.” Ele pigarreou e prosseguiu: “Nossos registros mostram que o andar de baixo é o último andar”.
Brunetti achou que Rossi estava brincando, mas então viu o sorriso dele desaparecer e se deu conta de que ele falava sério. “Mas todas as plantas estão nos papéis que recebemos quando adquirimos este apartamento”.
“Pode mostrá-los?”
“Mas é claro”, disse Brunetti, levantando-se. Sem pedir licença, foi até o escritório de Paola e ficou parado durante um momento, estudando as lombadas dos livros cujas estantes ocupavam três paredes da
sala. Finalmente alcançou a última e dela tirou um grande envelope repleto de papéis, que levou para a sala. Antes, porém, fez uma pausa para abrir o envelope e dele tirou o documento que receberam, havia
quase vinte anos, do tabelião que tratara da aquisição do apartamento para eles. Voltou e entregou a Rossi o documento.
O jovem começou a lê-lo, seguindo cada linha com o dedo. Virou a página, leu o restante, e assim procedeu até chegar ao final. Um “hum” abafado escapou de seus lábios, mas ele não disse nada. Ao acabar
de ler fechou o documento, colocando-o no colo.
“São os únicos papéis?”, perguntou.
“Sim, é só o que temos.”
“E nenhuma planta? Nenhum alvará de construção?”
Brunetti sacudiu a cabeça. “Não, não me recordo de nada disso. São os únicos documentos que nos foram dados na época da compra. Não me lembro de ter voltado a eles desde então.”
“O senhor disse que estudou direito, não é mesmo, signor Brunetti?”, Rossi perguntou finalmente.
“Estudei, sim.”
“Exerce a advocacia?”
“Não”, respondeu, sem entrar em detalhes.
“Se acaso a exercesse quando assinou esses papéis, muito me surpreenderia o fato de não haver notado, na página 3 do contrato, o parágrafo que declara que o senhor está adquirindo o apartamento no estado
legal e físico em que o encontrou no dia em que a propriedade passou para seu nome.”
“Creio que é a linguagem padrão empregada em qualquer contrato de transferência”, afirmou Brunetti, evocando uma vaga lembrança de uma das aulas de direito civil e torcendo para não ser traído pela memória.
“A parte relativa ao estado físico é o padrão, sim, mas não a parte referente ao estado legal e o mesmo acontece com o trecho seguinte”, comentou Rossi, abrindo novamente a pasta e procurando, até encontrar
o tal trecho. “Na ausência do condono edilizio, o comprador aceita plena responsabilidade de providenciar o mesmo em prazo oportuno e absolve os vendedores de quaisquer responsabilidades ou consequências
que possam ocorrer no que se refere à situação legal do apartamento e/ou da falha em obter este condono.” Rossi encarou-o e Brunetti julgou ter percebido uma profunda tristeza em seu olhar, ao pensar que
alguém pudesse ter assinado semelhante coisa.
Brunetti não se recordava de modo algum daquela especificação. Na época, ele e Paola estavam tão empenhados na aquisição do apartamento que fez o que o tabelião disse, assinou tudo aquilo que lhe foi apresentado.
Rossi voltou para a página inicial, onde estava escrito o nome do tabelião. “Foi o senhor quem escolheu o tabelião?”, perguntou Rossi.
Brunetti nem sequer se lembrava do nome dele e precisou olhar o documento. “Não, o vendedor foi quem sugeriu que o procurássemos e foi o que fizemos. Por que pergunta?”
“Por nenhum motivo em especial”, apressou-se em dizer Rossi.
“Por quê? Sabe algo a respeito dele?”
“Me parece que ele não exerce mais a profissão”, declarou Rossi com certa suavidade.
Acabando de perder a paciência com as perguntas de Rossi, Brunetti subiu o tom: “Gostaria de saber o significado de tudo isso, signor Rossi. Existe alguma dúvida de que somos proprietários deste apartamento?”.
Rossi voltou a sorrir nervosamente. “Receio que a situação seja um pouco mais complicada do que isso, signor Brunetti.”
Brunetti não tinha a menor ideia do que poderia ser mais sério do que aquilo. “Mas então diga do que se trata.”
“Receio que este apartamento não exista.”
2.
“O quê?”, gritou impulsivamente Brunetti. Percebeu que estava extravasando um bocado de raiva, mas foi em frente. “O apartamento não existe? O que quer dizer com isso?”
Rossi se encostou na cadeira, como se quisesse escapar da órbita da ira de Brunetti. Parecia achar intrigante que alguém reagisse com tamanha energia ao fato de ele ter questionado a existência de uma
realidade perceptível. Ao perceber que Brunetti não tinha uma intenção violenta, relaxou um pouco, pôs os documentos no colo e disse: “O que quero dizer é que o apartamento não existe para nós, signor
Brunetti”.
“E o que isso significa, que ele não existe para os senhores?”
“Significa que não existem registros do imóvel em nosso departamento. Não possuímos solicitações de alvarás, nenhuma planta, nem a aprovação final da obra realizada. Em resumo, não contamos com provas
documentais de que este apartamento foi construído.” Antes que Brunetti pudesse se manifestar, Rossi acrescentou, pondo a mão sobre a pasta que ele lhe entregara. “Infelizmente o senhor não pode nos proporcionar
essa documentação.”
Brunetti se recordou de uma história que Paola lhe contara, sobre um escritor inglês que, confrontado com um filósofo que advogava a inexistência da realidade, deu um pontapé numa pedra e lhe perguntou
o que ele diria daquilo. Voltou seu pensamento para questões mais urgentes. Seu conhecimento dos procedimentos adotados por outros departamentos da cidade era vago, mas escapava ao seu entendimento que
aquela espécie de informação se mantivesse no Ufficio Catasto, onde, tanto quanto sabia, eram guardados somente documentos relativos a títulos de propriedade. “É normal que seu departamento se interesse
por isso?”
“No passado, não”, respondeu Rossi com um sorriso tímido, como se lhe agradasse que Brunetti fosse suficientemente informado para fazer tal pergunta. “No entanto, como resultado de novas diretivas, nosso
departamento foi encarregado de organizar um arquivo abrangente e computadorizado de todos os apartamentos da cidade que foram declarados monumentos históricos pela Comissão do Patrimônio Histórico. Este
prédio é um deles. Estamos na fase de reunir a documentação e os arquivos dos vários departamentos da cidade. Assim, um departamento central, o nosso, disporá de cópias da documentação completa, relativa
a cada apartamento da lista. No fim, esse sistema centralizado nos poupará um tempo considerável.”
Havia duas semanas, refletiu Brunetti, ao observar o sorriso de satisfação de Rossi após se pronunciar, Il Gazzettino publicara um artigo anunciando que, por falta de recursos financeiros, a dragagem dos
canais da cidade tinha sido interrompida. “Quantos apartamentos constam da lista?”, perguntou.
“Oh, não temos a menor ideia. É um dos motivos pelos quais está sendo realizado esse levantamento.”
“E quando foi iniciado?”
“Há onze meses”, respondeu Rossi imediatamente, deixando Brunetti com poucas dúvidas de que se ele fosse inquirido, poderia também informar a data exata.
“E quantos documentos desses arquivos vocês compilaram até agora?”
“Bem, como alguns de nós se voluntariaram para trabalhar nos sábados, compilamos mais de mil”, declarou Rossi, sem fazer a menor tentativa de disfarçar seu orgulho.
“E quantos de vocês estão trabalhando nesse projeto?”
Rossi olhou para sua mão direita e, partindo do polegar, começou a contar os colegas. “Oito, penso eu.”
“Oito”, repetiu Brunetti. Parou de pensar nos cálculos que fizera e perguntou: “O que tudo isso significa? Para mim, quero dizer”.
A resposta de Rossi foi imediata. “Quando não dispomos de documentos de um apartamento, a primeira coisa que fazemos é solicitar ao proprietário que os providencie, mas não existe nada de adequado nessa
pasta. Tudo o que ela contém é o contrato de transferência, e assim temos de presumir que não lhe foram entregues quaisquer registros que os proprietários anteriores pudessem ter relativos à construção
original.” Antes que Brunetti pudesse interrompê-lo, ele prosseguiu. “Isso significa que ou esses registros foram perdidos, o que sugere que eles existiram, ou não. Quero dizer, não existiram.” Ele olhou
para Brunetti, que continuou calado. Rossi prosseguiu. “Se eles estão perdidos e se o senhor afirma que nunca os teve, então eles devem ter ido parar em um dos departamentos da cidade.”
“Nesse caso o que os senhores farão para localizá-los?”
“Ah, não é tão simples assim. Não temos obrigação de manter cópias desses documentos. O Código Civil deixa bem claro que isso é responsabilidade da pessoa a quem pertence a propriedade que está sendo examinada.
Sem dispor de suas cópias, o senhor não pode argumentar que perdemos as nossas, está entendendo o que quero dizer?”, ele perguntou com outro breve sorriso. “E é impossível para nós iniciarmos uma busca
dos papéis, pois não temos condição de usar mão de obra numa atividade que talvez seja inútil.” Ao observar a reação de Brunetti, ele explicou: “É porque esses papéis podem não existir, sabe?”.
Brunetti mordeu o lábio e perguntou: “E se eles não foram perdidos e se jamais existiram?”.
Rossi abaixou os olhos e se concentrou em seu relógio, que ajeitou melhor no pulso. “Nesse caso, signore”, explicou finalmente, encarando Brunetti, “isso significa que o alvará jamais foi concedido e que
a obra final nunca foi aprovada.”
“É possível, não? Logo depois da guerra todo mundo se pôs a construir.”
“É verdade”, disse Rossi, com a fingida modéstia de alguém que passou sua vida profissional lidando exatamente com aquelas questões. “Porém a maioria desses projetos, fossem eles pequenos restauros ou
amplas reformas, recebeu alvará e assim obteve status legal, pelo menos em nosso departamento. O problema aqui é que não existe alvará”, ele declarou, com um gesto que abrangia as paredes, o assoalho,
o teto.
“Se posso repetir minha pergunta, signor Rossi”, disse Brunetti, forçando um tom de calma e sensatez, “o que isso significa especificamente para mim e para meu apartamento?”
“Lamento não ter autoridade para responder, signore”, disse Rossi, devolvendo a pasta a Brunetti. Abaixou, pegou sua pasta de couro e levantou. “Minha responsabilidade consiste unicamente em visitar proprietários
de imóveis e verificar se os documentos faltantes estão em sua posse.” A expressão de seu rosto mudou e Brunetti julgou detectar nela um real desapontamento. “Sinto saber que o senhor não dispõe desses
papéis.”
Brunetti também se levantou. “E o que acontecerá de agora em diante?”
“Isso depende da Comissão do Ufficio Catasto.” Rossi deu um passo em direção à porta.
Brunetti foi para o lado esquerdo, sem bloquear a saída de Rossi, mas criando definitivamente um obstáculo entre o rapaz e a porta. “O senhor disse que acha que o andar de baixo foi acrescentado no século
XIX. No entanto, se ele foi adicionado mais tarde, junto com este andar, isso mudaria as coisas?” Por mais que tentasse, Brunetti não conseguia disfarçar um tom de esperança.
Rossi refletiu durante algum tempo e acabou dizendo, com cautela e reserva: “Talvez. Sei que o andar de baixo possui todos os alvarás e aprovações e assim, se for demonstrado que este andar foi acrescentado
ao mesmo tempo, isso poderia servir como argumento de que os alvarás foram concedidos”. Ele refletiu, um burocrata a quem havia sido apresentado um novo problema. “Sim, isso poderia mudar as coisas, embora
eu certamente não me encontre em posição de julgar.”
Animado momentaneamente diante da possibilidade de um recuo, Brunetti foi até a porta da varanda e a abriu. “Deixe-me mostrar uma coisa”, disse, voltando-se para Rossi e abanando a mão através da porta
aberta. “Sempre achei que as janelas do andar de baixo eram iguais às nossas.” Prosseguiu, sem encará-lo. “Se der uma olhada no andar de baixo, à esquerda, verificará o que quero dizer.” Com a desenvoltura
proporcionada por uma longa familiaridade, Brunetti se inclinou sobre a parede que chegava à altura de sua cintura, apoiando-se nas palmas das mãos, para olhar as janelas do apartamento de baixo. No entanto,
agora que as estudava, podia perceber que as janelas não se pareciam. As de baixo tinham molduras esculpidas em mármore branco de Istria; as suas não passavam de retângulos encaixados nos tijolos das paredes.
Ele se endireitou e se voltou para Rossi. O rapaz parecia estar imobilizado, com o braço esquerdo esticado na direção de Brunetti, a mão espalmada, como se estivesse tentando afastar maus espíritos, e
olhava fixamente o proprietário.
Brunetti deu um passo em direção a ele, mas Rossi recuou rapidamente, com a mão ainda espalmada.
“O senhor está bem?”, perguntou Brunetti, parando na porta.
O rapaz tentou falar, mas não emitia som algum. Abaixou o braço e disse algo, mas sua voz era tão baixa que Brunetti não conseguiu distinguir nada.
Numa tentativa de atenuar o mal-estar do momento, Brunetti disse: “Bem, receio não ter razão no que se refere às janelas. Nada há para se ver nelas”.
O rosto de Rossi se descontraiu e ele tentou sorrir, mas seu nervosismo continuava e era contagioso.
Tentando se livrar de todos os pensamentos sobre a varanda, Brunetti perguntou: “Pode me dar alguma ideia de quais serão as consequências de tudo isso?”.
“Como assim?”
“O que pode acontecer?”
Rossi deu um passo atrás e começou a responder. Sua voz assumiu os ritmos curiosamente encantatórios de alguém que ouviu a si próprio dizer a mesma coisa em incontáveis ocasiões. “No caso em que as permissões
foram solicitadas na época da construção, mas a aprovação final não foi concedida, é aplicada uma multa, dependendo da seriedade da violação dos códigos de construção vigentes na época.” Brunetti permaneceu
imóvel e o rapaz prosseguiu: “No caso em que nem a solicitação nem o alvará foram concedidos, a questão é passada para a Sovraintendenza dei Beni Culturali e eles julgam de acordo com o montante do prejuízo
que a estrutura ilegal ocasiona à configuração da cidade”.
“E daí?”
“Algumas vezes é imposta uma multa.”
“E…?”
“E algumas vezes a estrutura ilegal tem de ser demolida.”
“O quê?”, explodiu Brunetti, deixando de lado toda a aparente calma.
“Algumas vezes a estrutura ilegal tem de ser demolida.” Rossi deu um débil sorriso, sugerindo que de modo algum era responsável por essa possibilidade.
“Mas eu moro aqui”, disse Brunetti. “O senhor está falando de demolir minha casa.”
“Isso acontece raramente, acredite em mim”, declarou Rossi, como se estivesse tentando tranquilizá-lo.
Brunetti não achou mais nada para dizer. Ao notar isso, Rossi virou e se preparou para sair. Assim que se viu diante da porta, uma chave girou na fechadura e a porta se abriu. Paola entrou no apartamento
e sua atenção se dividia entre duas grandes sacolas de plástico, a chave e três jornais que começavam a escorregar da mão esquerda. Notou Rossi apenas quando ele deu instintivamente um passo adiante, numa
tentativa de segurar os jornais antes que caíssem. Paola ofegou, surpreendida, derrubou as sacolas, recuou e bateu o cotovelo na porta aberta. Arfou, por causa do susto ou da dor, enquanto começava a esfregar
o cotovelo.
Brunetti se aproximou rapidamente dela. “Paola, não se preocupe. Este senhor está aqui comigo.” Desviou-se de Rossi e segurou o braço de Paola. “Você pegou a gente de surpresa”, disse, tentando acalmá-la.
“Vocês também me pegaram de surpresa”, ela respondeu, conseguindo sorrir.
Brunetti ouviu um ruído. Rossi, que encostara sua pasta de couro na parede, se apoiava num joelho e punha laranjas de volta numa das sacolas.
“Signor Rossi”, disse Brunetti. O rapaz terminou o que estava fazendo, levantou e colocou a sacola sobre a mesa ao lado da porta.
“Apresento-lhe minha esposa”, disse Brunetti sem necessidade. Paola parou de esfregar o cotovelo e estendeu a mão para Rossi. Cumprimentaram-se, disseram coisas apropriadas, Rossi se desculpou por assustá-la
e Paola o deixou à vontade.
“O signor Rossi é do Ufficio Catasto”, Brunetti disse finalmente.
“Do Ufficio Catasto?”
“Sim, signora. Vim falar com seu marido a respeito do apartamento.”
Paola olhou rapidamente para Brunetti e algo no rosto dele a fez se voltar para Rossi com seu mais envolvente sorriso. “Signor Rossi, pelo visto o senhor estava de saída. Não me deixe atrasá-lo, por favor.
Tenho certeza de que meu marido me explicará tudo. Não há motivos para o senhor perder seu tempo, especialmente num sábado.”
“É muita bondade de sua parte, signora”, disse Rossi calorosamente. Voltou-se para Brunetti, agradeceu o tempo que ele lhe concedera e pediu novamente desculpas a Paola, mas sem apertar a mão de nenhum
dos dois. Assim que fechou a porta, ela perguntou: “O Ufficio Catasto?”.
“Acho que eles querem demolir o apartamento”, foi a explicação de Brunetti.
3.
“Demolir o apartamento?”, repetiu Paola, indecisa entre reagir com espanto ou rindo. “Do que você está falando, Guido?”
“Ele acaba de me contar uma história, segundo a qual não existem documentos no arquivo do Ufficio Catasto relativos a este apartamento. Eles deram início a uma espécie de informatização de todos os registros,
mas não conseguem encontrar qualquer prova de que foi concedido ou sequer requerido um alvará para este apartamento na época em que foi construído.”
“Isso é um absurdo!”, exclamou Paola. Entregou os jornais a Brunetti, pegou a outra sacola de plástico e seguiu pelo corredor em direção à cozinha. Pôs as sacolas sobre a mesa e começou a tirar dali as
compras. Enquanto Brunetti dava explicações, ela continuava a tirar tomates, cebolas e flores de zucchini do tamanho de seu dedo.
Ao ver as flores, Brunetti parou de falar sobre Rossi e perguntou: “O que é que você vai fazer com elas?”.
“Acho que um risoto.” Paola se inclinou e guardou na geladeira um pacote embrulhado em papel branco. “Lembra-se de como estava gostoso o risoto com gengibre que Roberta preparou para nós a semana passada?”
“Lembro, sim”, respondeu Brunetti, um tanto aliviado por desviar a atenção para um tema mais agradável.
“Tinha muita gente no Rialto?”
“Quando cheguei, não, mas estava lotado quando eu fui embora. Pelo que eu vi, a maioria era de turistas que foram lá para tirar fotos de outros turistas. Daqui a alguns anos teremos de ir lá de manhãzinha
ou não conseguiremos nos mexer.”
“E por que eles vão ao Rialto?”
“Imagino que é para ver o mercado. Por que pergunta?”
“Eles não têm mercados na terra deles? Lá não vendem comida?”
“Só Deus sabe o que eles têm na terra deles”, disse Paola, em tom levemente exasperado. “O que mais o signor Rossi disse?”
Brunetti se encostou no balcão da cozinha. “Declarou que em alguns casos tudo o que eles impõem é uma multa.”
“A conduta é essa mesmo”, disse Paola, encarando-o, agora que todas as compras tinham sido guardadas. “Foi o que aconteceu com Gigi Guerriero, quando ele fez uma pequena reforma e construiu um banheiro
a mais. O vizinho dele viu um encanador levando um vaso sanitário para o apartamento, telefonou para a polícia, denunciou o fato e ele foi multado.”
“Isso aconteceu há dez anos.”
“Doze”, retrucou Paola, pela força do hábito. Observou que Brunetti apertava os lábios tenso e acrescentou: “Não importa. Não importa. O que mais pode acontecer?”.
“Ele disse que em alguns casos, quando os alvarás não foram solicitados, mas a obra foi feita assim mesmo, eles foram forçados a demolir tudo o que foi construído.”
“Ele estava brincando, com toda a certeza.”
“Paola, você observou o signor Rossi. Acha que ele é o tipo de homem capaz de fazer piada com isso?”
“Desconfio que o signor Rossi não é o tipo de homem que faça piada sobre qualquer coisa.” Ela foi para a sala de estar, onde pôs em ordem algumas revistas deixadas no braço de uma poltrona e em seguida
entrou na varanda. Brunetti foi atrás dela e quando estavam um ao lado do outro, a cidade se espraiando diante deles, Paola acenou para os telhados, terraços, jardins e prédios. “Gostaria de saber o quanto
disso tudo é legal”, disse. “E também gostaria de saber quantas edificações têm alvará e receberam o condono.”
Ambos haviam passado a maior parte de suas vidas em Veneza e assim tinham um repertório infindável de histórias sobre subornos ou sobre paredes feitas de placas pré-fabricadas, removidas no dia seguinte,
após a vinda dos inspetores.
“Metade da cidade é assim, Paola, mas nós fomos pegos”, disse Brunetti.
“Não fomos pegos coisa alguma”, ela disse, voltando-se para ele. “Não fizemos nada de errado. Adquirimos este apartamento com a maior boa-fé. Battistini — não é assim que se chamava o homem de quem o compramos?
— deveria ter obtido o alvará e o condono edilizio.”
“Nós deveríamos ter certeza de que ele dispunha da documentação antes de fecharmos o negócio”, Brunetti tentou ponderar. “Não foi o que fizemos. Nós nos limitamos a ver tudo isso”, ele disse, com um amplo
gesto que abrangia o que estava diante deles, “e ficamos encantados.”
“Minha lembrança não é exatamente essa”, disse Paola, voltando para a sala de estar e sentando.
“Mas a minha é.”
Antes que Paola pudesse objetar, ele prosseguiu. “Não importa como cada um lembra o que aconteceu. Ou como fomos precipitados no momento em que o compramos. O que importa é que agora estamos encrencados
nisso.”
“E Battistini?”
“Morreu há uns dez anos”, respondeu Brunetti, pondo um fim em quaisquer planos que ela poderia ter de entrar em contato com ele.
“Não sabia.”
“Quem me contou foi o sobrinho dele, aquele que trabalha em Murano. Ele teve um tumor.”
“Que pena. Era um bom homem.”
“Era, sim. E com toda a certeza fez um preço razoável para nós.”
“Acho que ele se apaixonou pelos recém-casados”, disse Paola, com um leve sorriso ao se recordar do fato. “Especialmente recém-casados com um bebê a caminho.”
“Você acha que isso interferiu no preço?”
“Sempre achei que sim. Foi um ato bem atípico para um cidadão de Veneza, mas ainda assim foi um comportamento decente.” Ela se apressou em acrescentar: “Ou não, se precisarmos demolir o apartamento”.
“Isso vai além do ridículo, não acha?”
“Você trabalha para a cidade há mais de vinte anos, não é mesmo? Devia ter aprendido que ser ridículo não faz a menor diferença.”
Embora contrariado, Brunetti foi forçado a concordar. Lembrou-se de um vendedor de frutas que lhe disse que se um freguês tocasse numa fruta ou verdura expostas, o dono da barraca estaria sujeito a uma
multa de meio milhão de liras. O absurdo parecia não ser impedimento para qualquer norma que a prefeitura achasse correto impor.
Paola se afundou no sofá e esticou os pés, apoiando-os na mesinha baixa que estava entre eles. “Mas então o que devo fazer? Recorrer a meu pai?”
Brunetti sabia que a pergunta seria feita e ficou contente por não ter demorado. O conde Orazio Falier, um dos homens mais ricos da cidade, poderia operar facilmente aquele milagre dando apenas um telefonema
ou fazendo um comentário durante um jantar. “Não. Prefiro que as coisas fiquem por minha conta”, ele respondeu, enfatizando o minha conta.
Em nenhum momento lhe ocorreu, como também não ocorreu a Paola, abordar a questão legalmente, verificar os nomes dos departamentos apropriados, seus funcionários e os passos corretos a serem dados. Também
não ocorreu a nenhum dos dois que poderia haver um procedimento burocrático definido, mediante o qual eles resolveriam aquele problema. Se tais coisas de fato existiam ou podiam ser descobertas, os moradores
de Veneza as desconheciam. Sabiam que a única maneira de lidar com problemas como aquele era através das conoscienze: conhecidos, amigos influentes, contatos, dívidas acumuladas durante toda uma vida às
voltas com um sistema em geral reconhecido por sua ineficiência mesmo por aqueles que dele se encarregavam, ou especialmente por aqueles que dele se encarregavam, e que chegava ao ponto da inutilidade.
Era um sistema sujeito a abusos, resultante de séculos de subornos e onerado por um instinto bizantino de letargia e obscuridade.
Ignorando o tom de Brunetti, Paola disse: “Tenho certeza de que meu pai pode dar um jeito nessa questão”.
Antes de se dar um tempo para pensar, Brunetti perguntou: “Ah, onde estão as neves de antanho? O que aconteceu com os ideais de 1968?”.
Paola perguntou instantaneamente: “O que isso significa?”.
Ele a contemplou, cabeça jogada para trás, pronta para qualquer coisa, e se deu conta do quanto ela podia ser intimidante em sala de aula. “Significa que nós dois costumávamos acreditar na esquerda, na
justiça social e em coisas como a igualdade imposta pelas leis.”
“E…?”
“E agora nosso primeiro impulso é furar a fila.”
“O que você quer dizer com isso, Guido? Não fale ‘nosso’, por favor, quando fui eu quem fez a sugestão.” Ela fez uma pausa e acrescentou: “Seus princípios estão intactos”.
“E isso quer dizer o quê?”, ele perguntou, passando um pouco da medida do sarcasmo, mas ainda sem raiva.
“Significa que meus princípios não estão. Fomos feitos de bobos, fomos enganados durante décadas. Todos nós tínhamos a esperança de uma sociedade melhor e uma fé idiota de que esse sistema político nojento
e esses políticos nojentos de certa forma transformariam o país em um paraíso dourado, governado por uma sucessão infinda de reis filósofos.” Seus olhos se fixaram nos dele. “Bem, não acredito mais nisso,
em nada disso. Não tenho fé, não tenho esperança.”
Embora notasse o cansaço nos olhos de Paola enquanto ela falava, o ressentimento que ele jamais conseguia eliminar se insinuou em sua voz ao perguntar: “E isso significa que em qualquer momento que surgir
um problema você recorrerá a seu pai, com o dinheiro dele, as conexões dele, o poder que ele carrega nos bolsos como o resto de nós carregamos uns trocados, e pedirá a ele que tome conta de tudo para você?”.
“Só o que estou tentando fazer”, ela disse, modificando subitamente o tom de voz, como se estivesse atenuando a situação, enquanto ainda havia tempo, “é nos poupar tempo e energia. Quem tenta agir de maneira
correta, entra num mundo kafkiano, arruína a paz, a vida, tentando encontrar os documentos certos, só para depois bater de frente com outro burocratazinho como o signor Rossi. Ele vai dizer para a gente
que os papéis não valem, que faltam outros e outros mais, até deixar a gente louco.”
Ao sentir que Brunetti apreciara a mudança em seu tom de voz, Paola continuou: “Ah, sim, se a gente puder dispensar tudo isso pedindo a ajuda de meu pai, é o que prefiro fazer, pois não tenho nem paciência
nem energia para agir de outra maneira”.
“E se eu lhe disser que prefiro fazer tudo sozinho, sem a ajuda dele?” Antes que ela pudesse responder, ele acrescentou: “O apartamento é nosso, Paola, não é dele”.
“O que você quer dizer com isso: agir de modo legal” — e sua voz se tornou ainda mais cálida — “ou recorrer a seus amigos e conexões?”
Brunetti sorriu, um sinal seguro de que a paz havia sido restaurada. “É claro que eu vou falar com um monte de gente.”
“Ah”, ela disse, sorrindo também. “Agora estamos falando a mesma língua.” Seu sorriso se ampliou e ela começou a pensar em táticas. “Quem?”, ela perguntou, já totalmente esquecida do pai.
“Rallo, por exemplo, da Comissão do Patrimônio Histórico.”
“O pai do menino que vende drogas?”
“Vendia”, corrigiu Brunetti.
“Mas o que você fez para ele?”
“Prestei-lhe um favor.” Foi a única explicação que ele deu.
Paola aceitou e se limitou a perguntar: “Mas o que a Comissão do Patrimônio Histórico tem a ver com isso? Este andar não foi construído depois da guerra?”.
“Foi o que Battistini disse, mas a parte mais baixa do prédio está tombada como monumento e assim poderia ser afetada por qualquer coisa que aconteça neste andar.”
“Sei, sei…”, concordou Paola. “Tem mais alguém em vista?”
“Sim, o primo dos Vianello, um arquiteto, que trabalha no Comune, creio que no setor onde eles emitem alvarás de construção. Vou falar com Vianello e pedir que veja o que pode ser encontrado.”
Ambos ficaram sentados durante alguns momentos, rabiscando listas de favores prestados e que agora poderiam ser acionados em proveito próprio. Era quase meio-dia quando acabaram de fazer uma lista de possíveis
aliados e se pôr de acordo sobre sua possível utilidade. Foi só então que Brunetti perguntou: “Você trouxe os moeche?”.
Fiel a um hábito de décadas, Paola virou para a pessoa invisível para quem fingia contar os piores excessos de seu marido e disse: “Ouviu só o que ele acaba de perguntar? Estamos na iminência de perder
nossa casa e ele só pensa em caranguejos de casca mole”.
Ofendido, Brunetti objetou: “Não estou pensando só nisso”.
“Você está pensando no que mais, então?”
“No risoto.”
Chiara e Raffi, que vieram almoçar em casa, foram comunicados sobre a situação somente depois que o último caranguejo foi saboreado com grande júbilo. Recusaram-se inicialmente a levar o assunto a sério.
Quando seus pais conseguiram convencê-los de que o apartamento realmente corria um risco, começaram a planejar a mudança para um novo lar.
“Podemos ir para uma casa com jardim? Posso ter um cachorro?”, perguntou Chiara. Ao reparar na expressão dos pais, retificou. “Ou um gato?” Raffi não demonstrava interesse algum por animais e em vez disso
optou por um segundo banheiro.
“Se a gente conseguir mais um banheiro você provavelmente vai se mudar para lá e nunca mais vai sair, enquanto espera que esse seu ridículo bigodinho cresça”, disse Chiara. Pela primeira vez a família
reconhecia publicamente a existência nas últimas semanas de uma leve sombra que aos poucos se fazia visível sob o nariz de seu irmão mais velho.
Como se estivesse usando um daqueles capacetes azuis das Forças da Paz das Nações Unidas, Paola interveio: “Basta. Isso não é uma piada e não quero ouvir vocês dois falarem do assunto como se fosse”.
Chiara e Raffi olharam para ela e em seguida, como um par de corujinhas empoleiradas num galho de árvore, espiando qual de dois predadores atacaria primeiro, desviaram o olhar e o direcionaram para o pai.
“Vocês ouviram o que a mãe de vocês falou”, disse Brunetti, numa clara indicação de que as coisas estavam sérias.
“Vamos lavar os pratos”, ofereceu Chiara, conciliadora, sabendo muito bem que era a vez dela.
Raffi empurrou a cadeira e levantou. Pegou o prato da mãe, o do pai e em seguida o de Chiara, colocou-os sobre seu prato e foi até a pia. Para maior surpresa de todos, abriu a torneira e dobrou as mangas
do pulôver.
Como camponeses supersticiosos na presença do desconhecido, Paola e Brunetti se dirigiram rapidamente à sala de estar, mas antes ele pegou uma garrafa de grappa e dois copos pequenos.
Brunetti os encheu com aquele líquido claro e estendeu um copo para Paola. “O que você vai fazer hoje à tarde?”, ela perguntou, após o primeiro gole tranquilizador.
“Vou voltar para a Pérsia”, respondeu Brunetti. Tirou os sapatos e se esticou no sofá.
“Receio que seja uma reação excessiva às notícias do signor Rossi.” Paola tomou mais um gole. “Essa é a garrafa que trouxemos de Belluno, não?” Eles tinham um amigo lá, que tinha trabalhado com Brunetti
por mais de uma década, mas abandonou a polícia após ser ferido em um tiroteio. Voltou para Belluno a fim de tomar conta da fazenda do pai. Todo outono, ele montava uma destilaria e produzia cerca de cinquenta
garrafas de grappa, o que era uma operação inteiramente ilegal. Distribuía as garrafas entre a família e os amigos.
Brunetti tomou mais um gole e suspirou.
“Pérsia?”, ela perguntou finalmente.
Ele pôs o copo sobre a mesa baixa e pegou o livro que tinha abandonado quando o signor Rossi chegou. “Xenofonte”, explicou, abrindo a página marcada, de volta ao outro lado de sua vida.
“Os gregos conseguiram se salvar, não é mesmo? E regressaram para suas casas?”, indagou Paola.
“Não cheguei até esse trecho”, respondeu Brunetti.
A voz de Paola assumiu um leve tom de descrença. “Guido, você leu Xenofonte pelo menos duas vezes desde que nos casamos. Se acaso ignora se eles voltaram ou não é porque não estava prestando atenção ou
porque está com os primeiros sintomas de Alzheimer.”
“Finjo que não sei o que acontece e assim me divirto mais”, ele explicou, pondo os óculos. Abriu o livro e começou a ler.
Paola ficou olhando para o marido durante um longo tempo, encheu seu copo de grappa e levou-o para seu escritório, deixando Brunetti a sós com os persas.
4.
Como acontece com coisas desse tipo, nada aconteceu. Isto é, não chegou mais nenhum comunicado do Ufficio Catasto e não se ouviu mais falar do signor Rossi. Diante daquele silêncio e talvez movido pela
superstição, Brunetti não se arriscou a conversar com amigos que talvez pudessem ajudá-lo a esclarecer o status legal de seu apartamento. A primavera ia avançando, o tempo ia ficando mais ameno e os Brunetti
começaram a usar mais a varanda. No dia 15 de abril almoçaram ali pela primeira vez, embora na hora do jantar fizesse muito frio para se pensar em comer a céu aberto. Os dias se alongavam e nada mais se
ouviu sobre a dúbia legalidade do lar dos Brunetti. Eles seguiram o exemplo dos fazendeiros que vivem nas proximidades de um vulcão, os quais, no momento em que a terra para de ribombar, voltam a cultivar
seus campos, na esperança de que os deuses que governam essas coisas os deixem em paz.
Com a mudança da estação, mais e mais turistas começaram a afluir a Veneza. Um grande número de ciganos vinha no rastro deles. Eram suspeitos de incontáveis roubos nas cidades, e agora eram acusados de
bater carteira e outros crimes de pouca monta. Como tais crimes perturbavam os turistas, principal fonte de renda da cidade, e não apenas os moradores, Brunetti foi encarregado de ver o que poderia ser
feito a respeito deles. Os batedores de carteira eram jovens demais para ser encarcerados. Eram apreendidos repetidamente e levados para a questura, onde se pedia que se identificassem. Quando aqueles
poucos que tinham documentos eram menores de idade, recebiam uma advertência e eram soltos. Muitos estavam de volta no dia seguinte e a maioria voltava daí a uma semana. Como as únicas opções viáveis que
Brunetti podia enxergar era mudar a lei relativa à delinquência juvenil ou expulsá-los da região, ele achou difícil escrever seu relatório.
Estava em sua mesa, quebrando a cabeça para arranjar um jeito de contornar verdades evidentes, quando o telefone tocou. “Alô, Brunetti”, ele disse e passou para a terceira página dos nomes daqueles que
tinham sido presos por pequenos roubos nos dois últimos meses.
“É o commissario?”
“Sim.”
“Quem fala é Franco Rossi.”
O nome era o mais comum que um veneziano poderia ter, equivalente a um “José Silva”, e assim Brunetti levou algum tempo para lembrar os vários lugares em que poderia se deparar com um Franco Rossi. Foi
só então que o localizou — tratava-se do Ufficio Catasto.
“Ah, estava à espera de ouvi-lo, signor Rossi”, ele mentiu sem hesitar. Sua verdadeira esperança era que o signor Rossi de certa forma tivesse desaparecido, levando com ele o Ufficio Catasto e seus documentos.
“Há alguma novidade?”
“Em relação a quê?”
“Ao apartamento”, disse Brunetti, imaginando que outra novidade poderia esperar do signor Rossi.
“Não há novidade alguma. O departamento recebeu o relatório e vai examiná-lo.”
“Tem alguma ideia do que poderá ser?”, perguntou Brunetti, desconfiado.
“Não, sinto muito. Não há como dizer quando eles vão se pronunciar sobre o assunto.” A voz de Rossi soou um tanto ríspida.
Por alguns instantes, Brunetti ficou admirado de como aquelas palavras constituíam um verdadeiro clichê, empregado pela maioria dos funcionários públicos com quem ele havia lidado, como civil e como policial.
“O senhor queria mais alguma informação?”, perguntou, polido, consciente de que em algum momento, no futuro, precisaria recorrer à boa vontade do signor Rossi e até mesmo à sua ajuda material.
“Trata-se de outro assunto”, disse Rossi. “Mencionei seu nome a uma pessoa e ela me disse onde o senhor trabalha.”
“Pois não. Em que posso ajudá-lo?”
“É a respeito de algo aqui no departamento”, ele disse, interrompendo-se e em seguida se corrigindo. “Não, não é aqui, não estou no departamento, o senhor talvez entenda.”
“E onde está, signor Rossi?”
“Na rua. Estou usando meu telefonino. Não queria ligar do departamento.” O som falhou e quando voltou Rossi estava dizendo: “por causa do que eu queria informar”.
Se esse era o caso, o signor Rossi teria a sensatez de não usar seu telefonino, um meio de comunicação tão aberto para o público quanto um jornal.
“O que tem a me dizer é importante, signor Rossi?”
“Sim, penso que sim”, disse Rossi, baixando a voz.
“Pois então acho melhor o senhor encontrar um telefone público e me ligar de lá”, sugeriu Brunetti.
“O quê?”, perguntou Rossi, um pouco alterado.
“Ligue para mim de um telefone público, signore. Estou aqui aguardando.”
“Está querendo dizer que esta chamada não é segura?”, perguntou Rossi. Brunetti ouviu aquele mesmo tom aflito que se apoderou dele quando se recusou a ir para a varanda do apartamento.
“É um exagero”, disse Brunetti, tentando se mostrar calmo e tranquilizador. “Não haverá problema algum se o senhor me contatar através de um telefone público, sobretudo se discar para meu número direto.”
Ele disse o número a Rossi e o repetiu, enquanto imaginava o rapaz anotando.
“Preciso trocar dinheiro ou comprar um cartão telefônico”, disse Rossi. Então, depois de uma pausa breve, Brunetti achou que ele havia desligado, mas Rossi falou: “Voltarei a ligar”.
“Muito bem. Estarei aqui”, Brunetti começou a dizer, mas antes de terminar ouviu o clique do telefone.
O que o signor Rossi teria descoberto no Ufficio Catasto? Pagamentos feitos para que alguma pasta com dados específicos tivesse desaparecido do arquivo e outra pasta, mais inventiva, tivesse sido colocada
em seu lugar? Propinas a um inspetor de edificações? A ideia de que um funcionário público ficasse chocado diante dessas possibilidades ou até mesmo que ele chamasse a polícia deixou Brunetti com vontade
de rir. O que haveria de errado no Ufficio Catasto a ponto de contratarem um homem tão inocente quanto aquele?
Durante os minutos seguintes, enquanto Brunetti esperava que ele voltasse a telefonar, tentou imaginar que proveito lhe caberia se tivesse de ajudar o signor Rossi em relação a qualquer coisa que ele descobrira.
Com certa dor de consciência — muito pequena, na verdade — Brunetti se deu conta de que tinha plena intenção de usar o signor Rossi, sabia que faria de tudo para ajudar o rapaz, dando especial atenção
a quaisquer problemas que ele tivesse. Sabia que, em retorno, Rossi ficaria lhe devendo algo. Assim, no mínimo, quaisquer favores que ele pedisse seriam registrados na conta dele e não na do pai de Paola.
Brunetti esperou dez minutos, mas o telefone não soava. Quando tocou, daí a meia hora, era a signorina Elettra, secretária de seu chefe, perguntando se ele queria que ela trouxesse as fotos e a lista de
artigos de joalheria encontrados nos arredores de Veneza, na caravana de um dos garotos ciganos que fora preso havia duas semanas. A mãe dele insistiu que as joias eram dela e que estavam na família por
muitas gerações. Em vista do valor das joias, aquela alegação parecia muito implausível. Brunetti sabia que uma das joias já tinha sido identificada por uma jornalista alemã e teria sido roubada do apartamento
dela havia mais de um mês.
Ele olhou o relógio e viu que passava das cinco. “Não, signorina, não se incomode, o assunto pode esperar até amanhã.”
“Está bem, commissario. O senhor pode ficar com tudo assim que chegar.” Ela fez uma pausa e ele ouviu papéis farfalhando do outro lado da linha. “Então, se não houver mais nada, vou para casa.”
“E o vice-questore?”, perguntou Brunetti, intrigado com o fato de que ela se atrevia a ir embora com uma hora de antecedência.
“Ele saiu antes do almoço”, ela informou em tom neutro. “Disse que ia almoçar com o questore e acho que depois eles iriam para o escritório dele.”
Brunetti imaginou o que seu superior pretenderia ao conversar com o superior dele. As incursões de Patta nos domínios do poder nunca resultavam em algo positivo para as pessoas que trabalhavam na questura.
Habitualmente suas tentativas de exibir sua irrefreável energia desembocavam em novos planos e diretivas que eram impostos, vigorosamente aplicados e finalmente abandonados, quando se revelavam fúteis
ou redundantes.
Brunetti desejou uma noite agradável à signorina Elettra e desligou o telefone. Por mais duas horas, esperou o aparelho tocar. Finalmente, pouco depois das sete, deixou seu escritório e desceu até a sala
da equipe de policiais.
Pucetti estava a postos, com um livro aberto diante dele, o queixo apoiado nas mãos, enquanto percorria as páginas.
“Pucetti?”, disse Brunetti assim que entrou.
O jovem funcionário levantou os olhos e, ao ver Brunetti, se pôs imediatamente de pé. Brunetti ficou contente ao constatar que, pela primeira vez desde que fora trabalhar na questura, o jovem funcionário
conseguiu resistir ao impulso de bater continência.
“Estou indo para casa, Pucetti. Se alguém me telefonar, se for um homem, dê-lhe o número de meu telefone residencial e peça-lhe que me ligue, sim?”
“Sem dúvida, senhor”, disse o jovem policial, que dessa vez bateu continência.
“O que está lendo?”, perguntou Brunetti.
“Na verdade não estou lendo, senhor, estou estudando. É um livro de gramática.”
“De gramática?”
“Sim, senhor. De gramática russa.”
Brunetti olhou a página. Letras em alfabeto cirílico a preenchiam, não havia dúvida. “Por qual motivo está estudando gramática russa, se é que posso perguntar?”
“Claro que pode, senhor”, disse Pucetti sorrindo ligeiramente. “Minha namorada é russa e eu gostaria de poder conversar com ela na língua dela.”
“Não sabia que você tinha namorada, Pucetti”, observou Brunetti, pensando nos milhares de prostitutas russas que abarrotavam a Europa Ocidental e procurando manter a voz neutra.
“Tenho, sim senhor”, ele disse, com um sorriso mais amplo.
“E o que ela faz aqui na Itália? Trabalha?”
“Ensina russo e matemática no liceu onde meu irmão caçula estuda.”
“Há quanto tempo vocês estão juntos?”
“Seis meses.”
“Parece que a coisa é séria.”
O rapaz voltou a sorrir e Brunetti ficou surpreendido com a suavidade de seu semblante. “Acho que é sério, sim senhor. A família dela virá aqui neste verão e ela quer que eles me conheçam.”
“É por isso que você está estudando?”, ele perguntou, acenando para o livro.
Pucetti passou a mão no cabelo. “Ela me disse que eles não gostam da ideia de ela casar com um policial. Sabe, o pai e a mãe dela são cirurgiões. Assim, achei que seria bom poder conversar com eles, mesmo
que fosse um pouquinho. E como não falo alemão ou inglês, julguei que se eu conseguir falar com eles em russo vou mostrar que não sou apenas um policial ignorante.”
“Parece uma atitude muito sensata. Bem, deixarei você entregue à sua gramática.”
Voltou-se para sair e Pucetti disse: “Das vedanya”.
Sem saber o russo, Brunetti não pôde retribuir a saudação, mas desejou-lhe boa noite e se retirou. A jovem ensinando matemática e Pucetti estudando russo a fim de ser suficientemente bom para agradar os
pais dela… A caminho de casa, Brunetti pensou naquilo, imaginando se, no final das contas, ele próprio não seria nada mais do que um policial ignorante.
Às sextas-feiras Paola não precisava ir à universidade e assim costumava passar a tarde preparando uma refeição especial. Todos da família esperavam por esse momento, e aquela noite eles não se decepcionaram.
Ela tinha encontrado um pernil de carneiro no açougue que ficava atrás do mercado de verduras e o serviu com batatinhas cobertas de alecrim, zucchini trifolati e cenouras cozidas num molho tão doce que
Brunetti poderia continuar a saboreá-las na sobremesa, não fosse pelas peras assadas com vinho branco.
Depois do jantar ele se acomodou no seu canto habitual do sofá, numa postura não muito diferente da de uma baleia que foi dar na praia, permitindo-se uma pequenina dose de Armagnac, um mero suspiro de
líquido numa taça tão pequenina que mal parecia existir.
Depois de despachar os filhos para os respectivos quartos e deveres de casa, com as ameaças de costume, Paola também foi para a sala, sentou-se e, muito mais honesta do que Brunetti quanto àqueles hábitos,
serviu-se de uma generosa dose de Armagnac. “Meu Deus, como isso é bom”, exclamou após o primeiro gole.
Como num sonho, disse Brunetti: “Sabe quem me telefonou hoje?”.
“Não. Quem?”
“Franco Rossi, aquele do Ufficio Catasto.”
Ela cerrou os olhos e encostou na cadeira. “Oh, meu Deus, achei que tudo tinha acabado de uma vez por todas.” Um instante depois, ela perguntou: “O que foi que ele disse?”.
“Não tinha nada a ver com o apartamento.”
“E por qual outro motivo ele telefonaria?” Antes que ele pudesse responder ela perguntou: “Ele telefonou para você no trabalho?”.
“Sim e eu achei muito estranho. Quando esteve aqui não sabia que eu trabalhava na polícia. Perguntou o que eu fazia, e tudo que disse foi que estudei direito.”
“Você costuma fazer isso?”
“Sim.” Ele não apresentou nenhuma outra explicação e ela não pediu.
“Mas será que ele descobriu?”
“Foi o que ele disse. Um conhecido dele contou.”
“O que ele queria?”
“Não sei. Ele estava usando o telefonino dele, e como parecia que iria me dizer algo que não queria que outros ouvissem, sugeri que me ligasse de um telefone público.”
“E…?”
“Ele não telefonou.”
“Quem sabe ele mudou de ideia.”
Até o ponto em que um homem consegue dar de ombros quando está repleto de pernil de carneiro, refestelado num sofá, foi exatamente o que Brunetti fez.
“Se for algo importante, ele voltará a telefonar”, ela disse.
“Imagino que sim.” Pensou em tomar mais um pequenino gole de Armagnac, mas em vez disso resolveu dormir durante meia hora. Ao acordar, todo pensamento sobre Franco Rossi o abandonara, deixando-o apenas
com o desejo de mais um gole de Armagnac, antes de finalmente ir para a cama.
5.
Como Brunetti temia, na segunda-feira ele tomou conhecimento dos resultados da conversa do vice-questore Patta com o questore durante o almoço. A convocação chegou por volta das onze horas, logo após a
chegada de Patta à questura.
“Dottore?” A signorina Elettra estava parada na porta de seu escritório e Brunetti reparou que ela segurava uma pasta azul. Por um momento imaginou se ela havia escolhido aquela cor para combinar com a
cor do vestido.
“Ah, bom dia, signorina”, disse, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. “É a lista das joias roubadas?”
“Sim, e as fotos”, ela afirmou, entregando-lhe a pasta. “O vice-questore me pediu que lhe comunicasse que gostaria de falar com o senhor agora de manhã.” Seu tom de voz não indicava de modo algum que o
perigo espreitava por detrás daquela convocação, e assim Brunetti apenas assentiu. A signorina permaneceu onde estava e ele abriu a pasta. Quatro fotos coloridas estavam grampeadas numa das páginas, cada
uma delas mostrava uma joia: três anéis e um elaborado bracelete de ouro, contendo o que parecia ser uma fileira de pequenas esmeraldas.
“Parece que ela estava preparada para ser roubada”, disse Brunetti, surpreendido diante do fato de que alguém se desse ao trabalho de providenciar fotos de estúdio das próprias joias. Desconfiou imediatamente
que aquilo poderia ser uma tentativa de fraudar a companhia de seguros.
“Todo mundo está, não é mesmo?”, opinou a signorina.
Brunetti encarou-a e não dissimulou a surpresa. “Não pode estar falando sério, signorina.”
“Talvez não devesse, especialmente por trabalhar aqui, mas com toda a certeza estou falando.” Antes que ele pudesse questioná-la, ela acrescentou: “Todo mundo só fala nisso”.
“Há menos crimes aqui do que em qualquer outra cidade da Itália. Basta olhar as estatísticas”, ele disse, um pouco exaltado.
Dispensando qualquer gesto de impaciência, ela se contentou em dizer: “Dottore, com certeza o senhor não pensa que as estatísticas representam o que de fato acontece aqui?”.
“O que quer dizer com isso?”
“Quantos furtos ou roubos o senhor acha que foram relatados?”
“Acabo de dizer. Tomei conhecimento das estatísticas dos crimes. Todos nós tomamos.”
“Essas estatísticas não estão relacionadas com o crime, senhor. Deve saber disso, com certeza.” Quando Brunetti se recusou a morder a isca, ela perguntou: “O senhor não acredita realmente que as pessoas
se dão o trabalho de relatar crimes, não é mesmo?”.
“Bem, talvez nem todas, mas tenho certeza de que a maioria delas relata.”
“E eu tenho certeza de que a maioria não o faz”, ela disse, dando de ombros, o que de certo modo relaxou sua postura, mas não seu tom de voz.
“Pode me dar um motivo que a leva a pensar assim?”, disse Brunetti, pondo a pasta sobre a mesa.
“Conheço três pessoas cujos apartamentos foram roubados nos últimos meses e que não fizeram boletim de ocorrência nenhum.” Esperou que Brunetti se pronunciasse, mas ele não disse nada. Ela prosseguiu:
“Quer dizer, uma dessas pessoas tentou fazer. Foi até o posto dos carabinieri, perto de San Zaccaria, e comunicou que houve um roubo em seu apartamento. O sargento que estava atendendo disse que voltasse
no dia seguinte, pois seu superior não estava lá e ele era o único que podia fazer registros de roubos”.
“E essa pessoa voltou?”
“Claro que não. Por que haveria de se dar o incômodo de voltar?”
“Não é uma atitude negativa, signorina?”
“É negativa, evidentemente”, ela retrucou, com muito mais impudência do que normalmente empregava quando se dirigia a ele. “Que tipo de atitude o senhor esperava que eu tomasse?” Ao sentir o tom inflamado
de sua voz, o conforto que sua presença proporcionava a Brunetti desertou da sala, levando-o a sentir aquela mesma tristeza cansada que experimentava quando ele e Paola discutiam. Tentando se livrar daquela
sensação, olhou para as fotos e perguntou: “Qual das joias estava com a cigana?”.
A signorina Elettra, igualmente aliviada com a mudança de atmosfera, se debruçou sobre as fotos e apontou para o bracelete. “A proprietária o identificou. Ela tem o recibo que descreve a peça. Duvido que
faça qualquer diferença ou que tenha alguma utilidade, mas ela disse ter visto três ciganos no campo San Fantin na tarde em que roubaram o seu apartamento.”
“Não”, concordou Brunetti. “Não terá utilidade alguma.”
“E o que seria útil?”, ela perguntou retoricamente.
Em circunstâncias ordinárias Brunetti teria feito um ligeiro comentário sugerindo que para os ciganos valiam as mesmas leis que para qualquer outra pessoa, mas não queria pôr em perigo a atmosfera agradável
que havia sido criada entre eles. “Que idade tem o rapaz?”
“A mãe dele afirma que tem quinze, mas é claro que não existem documentos, certidão de nascimento, registros escolares e assim ele poderia ter qualquer idade entre quinze e dezoito anos. Enquanto ela mantiver
que ele tem quinze, ele não pode ser indiciado, o que lhe garante mais alguns anos para se safar da cadeia.” Brunetti reparou que ela voltava a se exaltar e fez o que podia para dar novo rumo à conversa.
“Hum”, ele murmurou, fechando a pasta. “Sobre o que o vice-questore quer conversar comigo? Tem alguma ideia?”
“Provavelmente sobre algo que surgiu do encontro dele com o questore.” O tom de voz dela não deixou transparecer nada.
Brunetti deu um suspiro audível e levantou. A questão dos ciganos ainda estava no ar, mas o suspiro foi suficiente para fazer a signorina sorrir.
“Realmente, dottore, não tenho a menor ideia. Ele apenas me pediu para dizer-lhe que gostaria de vê-lo.”
“Sem problemas. Vou comparecer à presença dele para saber o que ele quer.” Deteve-se na porta para permitir que ela fosse a primeira a sair e em seguida, um ao lado do outro, desceram as escadas, em direção
ao escritório de Patta e da salinha que a signorina ocupava ao lado.
Quando entraram, o telefone tocou e ela o atendeu. “Escritório do vice-questore Patta. Sim, dottore, ele está. Vou passá-lo para o senhor.” Ela apertou um dos botões ao lado do telefone e desligou. Olhando
para Brunetti, indicou a porta de Patta. “O prefeito. O senhor terá de esperar até…” O telefone voltou a tocar e ela atendeu. Lançou um rápido olhar a Brunetti e ele intuiu que era uma chamada pessoal.
Assim, pegou a edição matinal do Il Gazzettino dobrada em cima da mesa e foi até a janela, para dar uma olhada. Voltou-se durante um instante e seu olhar se encontrou com o dela. Ela sorriu, girou a cadeira,
aproximou o aparelho da boca e começou a falar. Brunetti foi para o corredor.
Ele começou a ler o jornal, pois não tivera tempo naquela manhã. Metade da primeira página era dedicada ao exame — era tão superficial que dificilmente poderia ser chamado de investigação — que se fazia
do processo realizado para homologar o contrato da reconstrução do Teatro La Fenice. Após anos de discussão, acusação e contra-acusação, até mesmo aquelas poucas pessoas que ainda tinham noção da cronologia
do caso perderam todo interesse nos fatos e toda esperança na prometida reconstrução.
Havia uma foto à esquerda. Brunetti reconheceu o rosto, mas só se deu conta de quem se tratava quando leu a legenda: “Francesco Rossi, fiscal da prefeitura, em coma após cair de um andaime”.
Suas mãos se contraíram, ele desviou o olhar e em seguida começou a ler a matéria:
Francesco Rossi, inspetor destacado para o Ufficio Catasto, caiu na tarde de sábado de um andaime na frente de um prédio em Santa Croce, onde realizava a inspeção de um projeto de restauro. Rossi foi levado
para o setor de emergência do Ospedale Civile. Seu estado foi classificado como riservato.
Muito antes de se tornar policial, Brunetti abandonara quaisquer crenças no que chamam de coincidência. Sabia que tudo acontecia porque outras coisas haviam acontecido antes. Desde que ingressara na polícia
adicionou a isso a convicção de que as ligações entre acontecimentos — pelo menos os acontecimentos que ele tinha a atribuição de investigar — raramente se mostravam inocentes. Franco Rossi não causara
grande impressão a Brunetti, com exceção daquele momento de quase pânico, quando levantou a mão num gesto defensivo, recusando o convite de ir à varanda dar uma olhada nas janelas do apartamento de baixo.
Naquele exato momento — e somente naquele — ele deixou de ser o dedicado e cinzento burocrata capaz de fazer pouco mais do que recitar os regulamentos de seu departamento. Tornou-se, para Brunetti, um
homem como ele próprio, repleto da fraqueza que nos torna humanos.
Não ocorreu a Brunetti, nem sequer por um momento, que Franco Rossi caíra daquele andaime. Ele também não perdeu tempo com a possibilidade de que o telefonema de Rossi dissesse respeito a um problema de
pouca importância em seu escritório, como alguém tentando obter um alvará de construção por meios ilegais.
Com tais certezas em mente, Brunetti voltou para a salinha da signorina Elettra e pôs o jornal em cima da mesa dela. Ela ainda estava de costas e ria baixinho de algo que alguém do outro lado da linha
falava. Sem se dar ao trabalho de chamar a atenção dela e sem pensar na convocação de Patta, Brunetti saiu da questura em direção ao Ospedale Civile.
6.
No caminho para o hospital, Brunetti pensava em todas as ocasiões em que seu trabalho o levara até lá. Não recordava tanto as pessoas específicas que ele havia sido convocado a visitar quanto os momentos
em que atravessou, imitando Dante, os portais escancarados além dos quais se ocultavam a dor, o sofrimento e a morte. Ao longo dos anos começou a suspeitar que, por maior que fosse a dor física, o sofrimento
moral que a rodeava era, com frequência, muito pior. Sacudiu a cabeça para se livrar daqueles pensamentos, não querendo entrar ali já com tristes reflexões.
Na portaria, Brunetti perguntou onde se encontrava Franco Rossi, que havia se ferido numa queda durante o fim de semana. O atendente, homem moreno, barbudo, que lhe parecia ligeiramente familiar, perguntou
se ele sabia para qual setor o signor Rossi havia sido levado. Brunetti não tinha a menor ideia, mas imaginou que provavelmente ele se encontrava na UTI. O atendente discou um número, fez algumas perguntas,
depois deu outro breve telefonema e enfim disse a Brunetti que o signor Rossi não estava nem na UTI nem na emergência.
“E na neurologia?”, sugeriu Brunetti.
Com a calma proporcionada por uma longa experiência, o atendente discou outro número, mas com o mesmo resultado.
“Mas onde ele poderia estar?”, perguntou Brunetti.
“Tem certeza de que o trouxeram para cá?”
“Foi o que li no Il Gazzettino.”
Se o sotaque do atendente já não tivesse revelado a Brunetti que ele era de Veneza, o olhar que ele lhe lançou foi uma confirmação. Limitou-se a perguntar: “Ele se feriu numa queda?”. Brunetti fez que
sim e ele sugeriu: “Então vou tentar a ortopedia”. Ligou novamente e disse o nome de Rossi. Ouviu alguma coisa que o fez lançar um rápido olhar para Brunetti. Depois de instantes, cobriu o telefone com
a mão e perguntou: “O senhor é parente dele?”.
“Não.”
“Mas então o que é? Amigo?”
Sem hesitar, Brunetti declarou: “Sim”.
O atendente disse mais algumas palavras ao telefone, ouviu e desligou. Manteve os olhos no aparelho durante um momento e olhou para Brunetti. “Sinto muito lhe dizer, mas seu amigo morreu hoje de manhã.”
Chocado, Brunetti imaginou a dor que sentiria se se tratasse mesmo da morte de um amigo. Tudo o que conseguiu dizer foi: “Na ortopedia?”.
O atendente deu de ombros, como se quisesse se distanciar de qualquer informação que dera ou transmitira. “Disseram-me que eles o levaram para lá porque seus braços estavam quebrados.”
“Mas qual foi a causa do falecimento?”
O atendente fez uma pausa, dando à morte o silêncio que lhe era devido. “A enfermeira não disse, mas se o senhor for até lá e conversar com eles talvez consiga essa informação. Sabe onde é?”
Brunetti sabia e ao se afastar o atendente disse: “Sinto muito por seu amigo, signore”.
Brunetti fez um gesto de agradecimento e percorreu o hall de entrada, cego à beleza de seus arcos ornamentados. Recorrendo a um consciente esforço de vontade, impediu-se de desfiar, como as contas de um
rosário, as histórias que ouvira sobre a lendária ineficiência daquele hospital. Rossi tinha sido levado para a ortopedia e morrido ali. Era tudo em que ele precisava pensar naquele momento.
Sabia que em Londres e em Nova York havia espetáculos musicais que ficavam em cartaz durante anos. O elenco mudava, novos atores assumiam os papéis dos que se aposentavam ou iam para outro espetáculo,
mas o enredo e o figurino permaneciam, ano após ano. Pareceu a Brunetti que quase o mesmo acontecia ali: os pacientes mudavam, mas não seus trajes e o ar geral de sofrimento que os rodeava. Homens e mulheres
arrastavam os pés através das arcadas e ficavam no bar com seus penhoares e pijamas, apoiando-se em muletas, membros engessados, enquanto as mesmas histórias se repetiam interminavelmente: alguns atores
iam assumir outros papéis. Alguns, como Rossi, deixavam o palco.
Ao chegar à ortopedia, viu uma enfermeira fazendo hora no topo da escada, um cigarro entre os dedos. Quando se aproximou, ela apagou o cigarro num copo de papel e abriu a porta, entrando na enfermaria.
“Desculpe”, disse Brunetti, apertando o passo para segui-la.
A enfermeira jogou o copo num cesto de metal e se voltou para ele. “Pois não?”, disse, mal olhando para Brunetti.
“Vim à procura de Franco Rossi. O atendente me disse que ele estava aqui.”
Ela o olhou com mais atenção e seu distanciamento profissional se atenuou, como se a proximidade da morte o fizesse merecedor de um tratamento melhor. “O senhor é parente dele?”, perguntou.
“Não, sou amigo.”
“Sinto muito pela sua perda”, disse a enfermeira, num tom de sincero reconhecimento de pesar, sem nada de profissional.
Brunetti agradeceu e perguntou: “O que foi que aconteceu?”.
Ela andava mais devagar e Brunetti seguia ao lado dela, imaginando que estava sendo levado até Franco Rossi, seu amigo Franco Rossi. “Ele deu entrada no hospital sábado à tarde”, ela explicou. “Ao examiná-lo,
no posto de atendimento, constataram que seus braços estavam quebrados e o trouxeram para cá.”
“Mas o jornal dizia que ele estava em estado de coma.”
A enfermeira hesitou e em seguida se pôs a caminhar mais rápido, em direção a duas portas giratórias no fim do corredor. “Não posso dizer nada quanto a isso, mas ele estava inconsciente quando o internaram.”
“Inconsciente devido a quê?”
Ela voltou a fazer uma pausa, como se estivesse pensando no quanto deveria dizer. “Ele provavelmente bateu a cabeça ao cair.”
“Sabe de que altura ele caiu?”
Ela fez que não e abriu a porta, segurando-a para que ele entrasse numa grande área aberta na qual havia uma mesa, naquele momento desocupada.
Ao pressentir que a enfermeira não responderia sua pergunta, Brunetti indagou: “Ele se feriu muito?”.
“O senhor terá de perguntar a um dos médicos.”
“O ferimento na cabeça foi o que causou a morte dele?”
Não sabia se estava imaginando, mas pareceu-lhe que ela ficava tensa a cada pergunta feita, enquanto sua voz se tornava mais profissional e menos acolhedora. “É outra coisa que o senhor precisa perguntar
aos médicos.”
“Mas continuo não entendendo por que o trouxeram para cá.”
“Por causa das fraturas nos braços.”
“Mas se a cabeça dele…”, Brunetti começou a dizer, mas a enfermeira se afastou e foi em direção a outra porta giratória, à esquerda da mesa.
Antes de passar por ela, voltou-se e disse: “Talvez possam lhe explicar lá em baixo, na emergência. Peça para falar com o dottor Carraro”. Em seguida, desapareceu.
Brunetti seguiu sua sugestão e desceu rapidamente a escada. Na emergência explicou à enfermeira que era amigo de Franco Rossi, que morrera após receber os primeiros cuidados ao dar entrada no hospital,
e perguntou se poderia falar com o dottor Carraro. A enfermeira perguntou seu nome e pediu que ele esperasse, enquanto falava com o médico. Ele foi em direção a uma das cadeiras de plástico que se alinhavam
numa parede e se acomodou, sentindo-se de repente muito cansado.
Daí a uns dez minutos um homem de jaqueta branca atravessou as portas giratórias que levavam à sala de atendimento e deu alguns passos em direção a Brunetti, parando logo em seguida. Com as mãos enfiadas
nos bolsos da jaqueta, era óbvio que esperava que Brunetti se aproximasse dele. Era baixo, com um jeito agressivo de andar, oscilante, comum a tantos dos homens de sua estatura. Tinha cabelos brancos,
meio espetados, grudados no couro cabeludo com pomada, e bochechas avermelhadas, provavelmente pela bebida, não por boa saúde. Educado, Brunetti levantou e foi em direção ao médico. Era bem mais alto do
que ele.
“Quem é o senhor?”, perguntou Carraro, olhando para cima com o ressentimento de quem tinha passado uma vida com o pescoço torto.
“Como a enfermeira deve ter dito, dottore, sou amigo do signor Rossi”, disse Brunetti.
“Onde está a família dele?”
“Não sei. Vocês já telefonaram para algum parente?”
O ressentimento do médico se transformou em irritação, sem dúvida provocada pelo pensamento de que existia uma pessoa ignorante a ponto de pensar que ele não tinha nada melhor para fazer do que sentar
e disparar telefonemas para parentes de pessoas mortas. Não respondeu e em vez disso perguntou: “O que o senhor deseja?”.
“Gostaria de saber a causa da morte do signor Rossi”, disse Brunetti com tranquilidade.
“E o que o senhor tem a ver com isso?”
Il Gazzettino lembrava com frequência a seus leitores que naquele hospital faltavam médicos e enfermeiros. Vivia lotado, e, assim, muitos médicos passavam longas horas atendendo.
“O senhor estava de plantão quando ele foi trazido, dottore?”, perguntou Brunetti, como se estivesse respondendo.
“Perguntei quem é o senhor”, disse mais alto o médico.
“Guido Brunetti”, ele respondeu calmamente. “Ao ler o jornal soube que o signor Rossi estava no hospital e vim para tomar conhecimento de como ele se encontra. Disseram-me na recepção que ele morreu e
por isso vim até aqui.”
“Para quê?”
“Para saber a causa da morte”, declarou Brunetti, acrescentando logo em seguida: “Entre outras coisas”.
“Que outras coisas?”, perguntou o médico, cujo rosto a essa altura tinha uma cor que até quem não era da área saberia que era perigosa.
“Repetindo, dottore”, disse Brunetti com um sorriso polido, “gostaria de saber a causa da morte.”
“O senhor disse que era amigo dele, certo?”
Brunetti fez que sim.
“Pois então não tem o direito de saber. Ninguém, a não ser os familiares mais próximos, pode ser informado.”
Como se o médico não tivesse dito nada, Brunetti perguntou: “Quando será realizada a autópsia, dottore?”.
“A o quê?” Carraro enfatizou o patente absurdo da pergunta de Brunetti. Quando ele não respondeu, Carraro deu-lhe as costas e começou a se afastar com uma arrogância que transmitia desprezo profissional
por aquele leigo e sua estupidez.
“Quando será realizada a autópsia?”, repetiu Brunetti, omitindo dessa vez o título de Carraro.
O médico se voltou, com algo de melodramático em seus gestos, e andando rapidamente se aproximou de Brunetti. “Será realizado o que a direção médica deste hospital decidir, signore. E sou levado a pensar
que o senhor não será solicitado a tomar parte nessa decisão.” Brunetti não estava interessado na explosão de raiva de Carraro, apenas no que a tinha causado.
Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou sua identificação de policial. Estendeu o documento para Carraro, cuidando para que ele ficasse numa altura tal que o médico tivesse de esticar o pescoço para
vê-lo. Carraro agarrou o documento, abaixou-o e estudou-o com alguma atenção.
“Quando será realizada a autópsia, dottore?”
Carraro manteve a cabeça abaixada, como se ler as palavras pudesse alterá-las ou fazer com que ganhassem um novo significado. Virou o documento, leu o verso e nada encontrou de útil. Finalmente olhou para
Brunetti. A arrogância foi substituída pela desconfiança. “Quem foi que convocou o senhor?”
“Acho que não é importante saber por que estamos aqui”, disse Brunetti, empregando deliberadamente o plural e na esperança de sugerir um hospital repleto de policiais, requisitando registros, raios X,
boletins médicos, interrogando enfermeiras e outros pacientes, todos envolvidos em descobrir a causa da morte de Franco Rossi. “Não basta saber que estamos?”
Carraro devolveu o documento para Brunetti e disse: “Não temos aparelho de raio X aqui, e quando vimos os braços dele, o mandamos para a radiologia e em seguida para a ortopedia. Era o que havia de mais
óbvio a ser feito. Qualquer médico teria agido assim”. Qualquer médico do Ospedale Civile, pensou Brunetti, mas não disse nada.
“Os braços dele estavam quebrados?”, perguntou.
“Claro que estavam, e o braço direito estava quebrado em dois lugares. Nós o mandamos para o andar de cima, a fim de que seus braços fossem cuidados e engessados. Não havia mais nada que pudéssemos fazer.
Foi um procedimento padrão. Assim que foi realizado, eles poderiam tê-lo mandado para outro setor.”
“Neurologia, por exemplo?”
Como resposta, Carraro se limitou a dar de ombros.
“Sinto muito, dottore”, disse Brunetti, aplicando de novo o seu sarcasmo. “Acho que não ouvi sua resposta.”
“Sim, neurologia seria uma opção.”
“O senhor observou qualquer dano sugerindo que ele deveria ser enviado à neurologia? O senhor mencionou esse fato em seus registros?”
“Acho que sim”, disse Carraro, evasivo.
“Acha ou tem certeza?”
“Tenho certeza”, Carraro finalmente admitiu.
“O senhor fez alguma anotação quanto ao ferimento na cabeça? Como se fosse o resultado de uma queda?”
Carraro fez que sim: “Está em meu registro”.
“Mas o senhor o enviou para a ortopedia?”
Carraro enrubesceu novamente, tomado por uma raiva súbita. Brunetti imaginou como seria ter sua saúde confiada nas mãos daquele homem. “Os braços estavam quebrados. Queria que ele fosse atendido antes
de entrar em estado de choque e por isso o mandei para a ortopedia. Era responsabilidade deles enviá-lo para a neurologia.”
“E então?”
Aos olhos de Brunetti o médico foi substituído pelo burocrata, se encolhendo ao pensar que qualquer suspeita de negligência tinha toda a probabilidade de recair sobre ele, e não sobre quem realmente tinha
tratado de Rossi. “Se a ortopedia deixou de enviá-lo para os demais cuidados necessários, a responsabilidade não é minha. O senhor deveria estar conversando com eles.”
“Qual era a gravidade do ferimento na cabeça dele?”
“Não sou neurologista”, Carraro disparou de volta, conforme Brunetti previra.
“O senhor acabou de dizer que anotou o ferimento dele em seu registro.”
“Anotei, sim, está lá.”
Brunetti se sentiu tentado a dizer que sua presença nada tinha a ver com uma possível acusação de imperícia médica, mas duvidava que Carraro acreditaria nele e que, mesmo que acreditasse, isso faria alguma
diferença. Já havia lidado com muita burocracia ao longo da carreira. Experiências amargas e repetidas ensinaram que somente os militares e a Máfia, e talvez a Igreja, eram tão dados quanto a classe médica
ao corporativismo e à negativa, e que se danassem a justiça, a verdade ou a vida.
“Obrigado, dottore”, disse Brunetti com uma firmeza que pegou o médico de surpresa. “Gostaria de vê-lo.”
“Rossi?”
“Sim.”
“Está no necrotério”, indicou Carraro, numa voz tão fria quanto o lugar em que estavam. “Sabe onde fica?”
“Sim.”
7.
Felizmente os passos de Brunetti o conduziram para o espaço aberto do principal pátio do hospital. Assim, ele teve um rápido vislumbre do céu e das árvores que floriam. Desejou poder, de algum modo, apoderar-se
da beleza das nuvens avistadas através da floração rósea e levar essa beleza consigo. Entrou no estreito corredor que terminava no obitorio, vagamente perturbado ao se dar conta do quanto estava familiarizado
com o caminho que levava à morte.
Ao chegar à porta, o atendente o reconheceu e o cumprimentou com um aceno. Era um homem que, por lidar durante décadas com os mortos, tinha assumido o silêncio deles.
“Franco Rossi”, declarou Brunetti.
Outro aceno e o homem conduziu Brunetti até a sala onde algumas formas cobertas por lençóis se alongavam em macas baixas. O atendente fez Brunetti atravessar a sala e parou ao lado de uma das macas, mas
nem fez menção de remover o lençol. Brunetti contemplou a protuberância formada pelo nariz, uma depressão na altura do queixo e em seguida uma superfície desigual, em que se destacavam duas formas horizontais,
salientes, que deviam ser os braços engessados, e depois dois tubos horizontais, que terminavam onde os pés se projetavam para os lados.
“Ele era meu amigo”, disse Brunetti, talvez para si mesmo, e em seguida removeu o lençol na parte que cobria o rosto.
O talho arroxeado em cima do olho esquerdo desfazia a simetria da testa, estranhamente achatada, como se tivesse sido pressionada por algo enorme. No mais era o mesmo rosto, comum, que passaria despercebido.
Paola lhe dissera certa vez que seu herói, Henry James, se referia à morte como “a coisa distinta”, mas não havia nada de distinto naquilo que Brunetti fitava: era algo estagnado, anônimo, frio.
Cobriu o rosto de Rossi, perturbado pelo desejo de saber o quanto daquilo que ali jazia era Rossi; se Rossi não estava mais lá, por qual motivo o que sobrara merecia tamanho respeito? “Obrigado”, ele disse
ao atendente e saiu do necrotério. Sua reação ao entrar no pátio foi completamente animalesca: quase conseguia sentir o pelo na região da nuca abaixar. Pensou em ir até a ortopedia se inteirar de qual
justificativa eles poderiam apresentar, mas a visão do rosto danificado de Rossi persistia, e ele não queria nada além de ir embora do hospital. Cedeu a esse desejo e se retirou, porém antes parou na entrada,
onde dessa vez mostrou seu cartão de identificação e perguntou pelo endereço de Rossi.
O recepcionista o encontrou rapidamente e informou também o número de telefone. Era no bairro de Castello, e quando Brunetti perguntou ao recepcionista se sabia localizá-lo, ele achou que deveria ser para
os lados de Santa Giustina, perto da antiga loja onde consertavam bonecas.
“Esteve alguém aqui perguntando por ele?”
“Não em meu horário de trabalho, commissario, mas a família dele deve ter recebido um comunicado do hospital e saberá aonde ir.”
Brunetti consultou o relógio. Era quase uma da tarde, mas duvidava que a convocação habitual para o almoço seria feita naquele dia pela família de Rossi, se é que ele tinha uma família. Sabia que ele trabalhava
no Ufficio Catasto e que morrera após uma queda. Fora isso, sabia apenas o pouco que inferiu de seu único e breve encontro com ele e da conversa ainda mais breve ao telefone. Rossi era cumpridor de seus
deveres, tímido, quase um clichê do burocrata meticuloso. E, como a mulher de Ló, quase se tornou uma estátua de sal quando Brunetti sugeriu que ele fosse até a varanda.
Brunetti tomou o caminho que levava a Barbaria delle Tolle e depois seguiu em direção a San Francesco della Vigna. À direita o vendedor de frutas que usava peruca estava fechando a loja e cobria as caixas
de vegetais com um pano verde, num gesto que lembrou perturbadoramente o modo como ele tinha coberto o rosto de Rossi. Em torno dele tudo era como sempre: as pessoas se apressavam em ir almoçar em casa
e a vida prosseguia.
Foi fácil encontrar o endereço, do lado direito do campo, duas portas depois daquilo que agora havia se tornado mais uma agência imobiliária. As palavras ROSSI FRANCO estavam gravadas numa estreita placa
de bronze, vizinha da campainha do segundo andar. Ele apertou a campainha, aguardou, voltou a apertá-la, mas não houve resposta. Apertou a campainha de cima, mas o resultado foi o mesmo e então apertou
a campainha de baixo.
Após um momento uma voz masculina respondeu através do interfone. “Sim, quem é?”
“Polícia.”
Fez-se a pausa habitual e a voz disse: “Está bem”.
Brunetti aguardou o clique que abriria a grande porta externa do prédio, mas em vez disso ouviu o som de passos e em seguida a porta foi aberta. Um homem baixo estava diante dele, mas não se notava imediatamente
seu tamanho, pois ele se encontrava no degrau que os moradores sem dúvida esperavam que deixasse o hall de entrada acima do nível da acqua alta. O homem segurava um guardanapo e encarou Brunetti com aquela
desconfiança inicial que havia muito ele estava acostumado a enfrentar. O homem usava óculos de lentes espessas e Brunetti notou uma mancha vermelha, provavelmente molho de tomate, do lado esquerdo de
sua gravata.
“Pois não?”, ele disse sem sorrir.
“Trata-se do signor Rossi.”
Ao ouvir aquele nome a expressão do homem se atenuou e ele se inclinou para escancarar a porta. “Desculpe-me. Eu deveria ter pedido ao senhor para entrar. Por favor, por favor.” Ele deu espaço para Brunetti
no pequeno degrau, estendendo a mão em seguida, como se quisesse pegar a mão do commissario. Quando notou que ainda segurava o guardanapo, o homem o escondeu rapidamente. Inclinou-se e fechou a porta,
voltando-se para Brunetti.
“Siga-me, por favor”, disse, indo em direção à porta aberta no fim do corredor, do lado oposto da escada que levava aos andares de cima do prédio.
Brunetti se deteve para que o homem entrasse antes dele e o seguiu. O vestíbulo era muito pequeno, devia medir pouco mais de um metro de largura. Os dois degraus eram uma evidência a mais da eterna confiança
dos moradores de Veneza de que podiam vencer as marés que corroíam perpetuamente os alicerces da cidade. A sala para onde os degraus levavam era limpa e surpreendentemente bem iluminada para um apartamento
localizado em um piano rialzato. Brunetti notou que no fundo da sala havia uma fileira com quatro janelas altas que davam para um jardim, situado do outro lado de um amplo canal.
“Desculpe-me, eu estava comendo”, disse o homem, pondo o guardanapo sobre a mesa.
“Não quero interrompê-lo.”
“Não, não, eu estava acabando.” Havia em seu prato uma boa quantidade de macarrão e, à esquerda, um jornal aberto. “Não tem a menor importância”, ele insistiu e fez um gesto indicando um sofá no centro
da sala, de frente para as janelas. “Posso oferecer algo? Un’ombra?”, perguntou.
Não havia nada que Brunetti teria apreciado mais do que um pequeno copo de vinho, mas recusou. Em vez disso estendeu a mão e se apresentou.
“Marco Caberlotto”, respondeu o homem, pegando a mão dele.
Brunetti sentou no sofá e Caberlotto se acomodou numa poltrona. “O que o senhor quer saber de Franco?”, perguntou.
“Sabia que ele estava no hospital?”
“Sim. Li o artigo no Gazzettino hoje de manhã. Irei vê-lo assim que acabar de almoçar”, ele declarou, acenando para a mesa, onde sua comida esfriava lentamente. “Como ele está passando?”
“Receio ter más notícias para o senhor”, disse Brunetti, recorrendo à fórmula com que havia se familiarizado nas últimas décadas. Ao perceber que Caberlotto entendera, prosseguiu: “Ele não chegou a sair
do estado de coma e morreu esta manhã”.
Caberlotto murmurou algo e pôs a mão na boca, pressionando os lábios. “Eu não sabia. Pobre rapaz.”
Brunetti aguardou alguns instantes antes de perguntar, com delicadeza: “O senhor o conhecia bem?”.
Ignorando a indagação, Caberlotto perguntou: “É verdade que ele caiu? Que caiu e bateu a cabeça?”.
Brunetti fez que sim.
“Mas ele caiu mesmo?”, insistiu Caberlotto.
“Sim. Por que o senhor pergunta?”
Mais uma vez Caberlotto não respondeu diretamente. “Ah, pobre rapaz”, repetiu, sacudindo a cabeça. “Jamais teria acreditado que uma coisa dessas pudesse acontecer. Ele que era sempre tão cauteloso…”
“O senhor quer dizer em relação ao trabalho?”
Caberlotto fitou Brunetti e disse: “Não, em relação a tudo. Ele era exatamente assim… cauteloso. Trabalhava naquela repartição e parte da tarefa deles é sair nas ruas e ficar de olho no que está sendo
feito, mas ele preferia ficar na repartição e trabalhar com plantas e projetos, observando a arquitetura dos prédios ou como a arquitetura iria ficar depois de um restauro. Era dessa parte que ele gostava.
Ele mesmo dizia”.
Recordando a visita que Rossi fizera ao seu apartamento, Brunetti disse: “Julguei que parte do trabalho dele consistia em visitar edifícios e casas, inspecionar tudo o que era violação das regras de construção”.
Caberlotto deu de ombros. “Sei que ele tinha de inspecionar casas de vez em quando, mas a impressão que tive foi de que ele fazia isso apenas para ser capaz de dar explicações aos proprietários para que
eles entendessem o que estava acontecendo.” Caberlotto fez uma pausa, tentando talvez recordar conversas com Rossi, e prosseguiu. “Eu não o conhecia tão bem assim. Éramos vizinhos e assim conversávamos
na rua ou tomávamos um drinque de vez em quando. Foi numa dessas ocasiões que ele me disse que gostava de estudar plantas dos edifícios.”
“O senhor afirmou que ele era sempre muito cauteloso.”
“Sim, em relação a tudo”, disse Caberlotto, e parecia quase sorrir ao se lembrar. “Eu até brincava com ele. Ele jamais carregava uma caixa ao descer a escada. Dizia que precisava visualizar os dois pés
quando caminhava.” Ele fez uma pausa, como que pensando se devia prosseguir. “Certa vez uma lâmpada explodiu quase em cima dele e ele me telefonou, pedindo o nome e o endereço de um eletricista. Perguntei
do que se tratava e quando ele me disse sugeri que ele mesmo trocasse a lâmpada. Tudo o que ele precisava fazer era enrolar fita-crepe num pedaço de papelão, grudá-lo na base da lâmpada e desatarraxar,
mas ele disse que tinha medo de mexer com isso.” Caberlotto não prosseguiu.
“E o que foi que aconteceu?”, incitou Brunetti.
“Era domingo, não dava para chamar ninguém. Então subi e fiz para ele o que era preciso. Desliguei a corrente elétrica e retirei a lâmpada.” Ele fitou Brunetti e fez um gesto de quem girava algo com a
mão direita. “Fiz exatamente como havia dito e a lâmpada foi desatarraxada com a maior facilidade. Levou uns cinco segundos, mas ele nunca ia fazer aquilo sozinho. Por ele o cômodo ia ficar no breu, vazio,
até ele achar um eletricista.” Ele sorriu e olhou para Brunetti. “Sabe, ele não era medroso. Era só o jeito dele.”
“Ele era casado?”
Caberlotto fez que não.
“Tinha namorada?”
“Também não.”
Se conhecesse Caberlotto melhor, Brunetti teria perguntado sobre um namorado. “Os pais dele estão vivos?”
“Ignoro. Se eles ainda vivem acho que não moram em Veneza. Rossi jamais falava deles e ficava sempre aqui nos feriados.”
“Tinha amigos?”
Caberlotto pensou um pouco e disse: “De vez em quando eu o via na rua com alguma pessoa ou tomando um drinque. O senhor sabe como é, mas não me recordo de alguém em particular ou de vê-lo com a mesma pessoa”.
Brunetti não disse nada, então Caberlotto tentou explicar. “Sabe, não éramos realmente amigos. Acho que olhava para ele sem realmente prestar muita atenção, apenas o reconhecia.”
“E ele recebia pessoas?”
“Imagino que sim. Não tenho muita ideia de quem vem e de quem sai. Ouço pessoas subindo e descendo, mas nunca sei quem são.” De repente, ele perguntou: “Mas o que foi que trouxe o senhor até aqui?”.
“Eu também o conhecia”, respondeu Brunetti. “Tão logo soube que ele morreu vim conversar com a família, mas vim como amigo, não mais do que isso.” Não ocorreu a Caberlotto questionar por que Brunetti,
se era amigo de Rossi, sabia tão pouco a respeito dele.
Brunetti levantou. “Deixo-o terminar seu almoço, signor Caberlotto”, disse, estendendo a mão.
Caberlotto a apertou. Acompanhou Brunetti até o portão do prédio e o abriu. Parado no degrau e olhando para Brunetti, disse: “Ele era um homem bom. Não o conhecia bem, mas gostava dele. Ele sempre dizia
coisas gentis sobre as pessoas”. Caberlotto se inclinou, pôs a mão na manga do paletó de Brunetti, como se quisesse impressioná-lo com a importância do que acabara de declarar, e em seguida fechou a porta.
8.
No trajeto até a questura, Brunetti deu uma parada a fim de telefonar para Paola e dizer que não iria almoçar em casa. Foi em seguida para uma pequena trattoria e comeu uma macarronada, que não apreciou
muito, e alguns pedaços de galinha que serviram apenas como combustível para ele continuar funcionando no resto do dia. Já de volta ao trabalho, encontrou um bilhete na mesa, comunicando que o vice-questore
Patta queria vê-lo em seu escritório às quatro horas.
Ele telefonou para o hospital e deixou um recado com a secretária do dottor Rizzardi, perguntando ao patologista se ele havia feito a autópsia de Francesco Rossi. Em seguida, deu outro telefonema a fim
de se informar melhor sobre o procedimento burocrático que determinara a realização da autópsia. Desceu até a sala dos policiais para constatar se seu assistente, o sargento Vianello, se encontrava lá.
Ele estava em sua mesa e diante dele havia uma pasta volumosa e aberta. Embora não fosse muito mais alto do que seu superior, Vianello de certa forma parecia ocupar muito mais espaço.
Ergueu a cabeça quando Brunetti entrou e fez menção de se levantar, mas o commissario, com um gesto, indicou que permanecesse sentado. Em seguida, ao notar os três policiais que ali se encontravam, mudou
de ideia. Levantou ligeiramente o queixo, em direção a Vianello, e então foi até a porta. O sargento fechou a pasta e seguiu Brunetti até o escritório.
Quando estavam sentados, um de frente para o outro, Brunetti perguntou: “Tomou conhecimento da história do homem que caiu de um andaime em Santa Croce?”.
“Aquele homem do Ufficio Catasto?”, perguntou Vianello, mas na verdade não era uma pergunta. Quando Brunetti confirmou, Vianello disse: “E de que se trata?”.
“Ele me telefonou na sexta-feira”, disse Brunetti e fez uma pausa para permitir que Vianello o interrogasse. Como isso não aconteceu, Brunetti prosseguiu. “Ele disse que queria conversar comigo sobre algo
que estava acontecendo no departamento dele, mas estava usando o telefonino. Quando respondi que aquele não era um meio seguro, ele disse que voltaria a me telefonar.”
“E não telefonou?”, interrompeu-o Vianello.
“Não”, disse Brunetti, sacudindo a cabeça. “Esperei aqui até as sete. Cheguei a deixar o número do telefone de minha casa, para o caso de ele ligar, o que não aconteceu. Então, hoje de manhã, deparei-me
com o retrato dele num jornal. Fui até o hospital na mesma hora, mas era tarde demais.” Ele não disse mais nada e esperou ouvir um comentário de Vianello.
“Por qual motivo o senhor foi ao hospital?”
“Ele tinha medo de altura.”
“Desculpe. Como assim?”
“Quando foi ao meu apartamento, ele…”, começou a dizer Brunetti, mas Vianello o interrompeu.
“Ele foi ao seu apartamento? Quando?”
“Há alguns meses. Por causa das plantas ou dos registros que eles têm do meu apartamento. Ou que não têm. Na verdade, isso não importa realmente. Ele, de qualquer modo, foi e pediu para ver alguns documentos.
Eles haviam me enviado uma carta, mas o motivo de ele me procurar não é relevante. O importante foi o que aconteceu quando ele estava lá.”
Vianello não disse nada, mas não conseguia disfarçar a curiosidade.
“Enquanto conversávamos sobre o apartamento, pedi a ele que fôssemos até a varanda, onde daríamos uma olhada no andar abaixo do nosso. Eu só queria mostrar que ambos tinham sido acrescentados ao mesmo
tempo, era uma coisa que poderia afetar a decisão deles em relação ao apartamento.” Enquanto falava, Brunetti se deu conta de que não tinha a menor ideia da decisão que o Ufficio Catasto tinha enfim tomado
— se é que tinha tomado alguma.
“Eu estava na varanda, debruçado, olhando para as janelas do apartamento de baixo e quando me voltei para Rossi era como se eu estivesse mostrando uma víbora para ele. Ele ficou paralisado.” Ao notar o
ceticismo estampado na fisionomia de Vianello, Brunetti contemporizou. “Bem, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. De qualquer modo, ele se apavorou.” Ele parou de falar e olhou para Vianello.
Vianello não disse nada.
“Se você o tivesse visto entenderia o que quero dizer. A ideia de se debruçar no parapeito da varanda o deixou aterrorizado.”
“E daí?”
“E daí não havia como ele ousar subir num andaime e muito menos se atrever a subir nele sem ajuda de ninguém.”
“E ele disse alguma coisa?”
“Sobre o quê?”
“Sobre o medo de altura.”
“Vianello, é o que eu acabei de falar. Ele não precisava dizer nada, estava estampado na cara dele. Estava aterrorizado. Se uma pessoa sente tamanho medo de algo, ela não consegue agir. É impossível.”
Vianello tentou outra tática. “Mas ele não disse nada ao senhor. É o que estou tentando fazê-lo perceber ou levar em consideração. O senhor ignora se foi a ideia de olhar para baixo que o amedrontou. Poderia
ter sido outra coisa.”
“Claro que poderia”, admitiu Brunetti com exasperação e descrença. “Não foi o caso. Eu o vi, conversei com ele.”
Afável, Vianello perguntou: “E daí?”.
“Daí que ele não subiu naquele andaime por vontade própria, não caiu dele por acidente.”
“O senhor acha que ele foi assassinado?”
“Não sei se isso é verdade”, admitiu Brunetti, “mas não acho que ele foi lá voluntariamente, não subiu no andaime porque queria.”
“O senhor viu?”
“O andaime?”
Vianello fez que sim.
“Não tive tempo de examinar melhor.”
Vianello puxou a manga do paletó e consultou o relógio. “Agora o senhor tem tempo.”
“O vice-questore quer que eu esteja no escritório dele às quatro”, disse Brunetti, consultando seu próprio relógio. O encontro seria daí a vinte minutos, e ele surpreendeu o olhar de Vianello. “Sim, vamos
até lá.”
Deram uma parada na sala dos policiais e pegaram um exemplar do Gazettino, pertencente a Vianello, que informava o endereço de um edifício em Santa Croce. Convocaram Bonsuan, o piloto principal, e disseram
que queriam ir até lá. A caminho, os dois, em pé no deque do barco da polícia, estudaram uma lista de endereços e localizaram o número, numa calle que levava ao campo Angelo Raffaele. O barco os levou
em direção ao fim do Zattere, em águas além das quais avultava uma embarcação enorme, ancorada, fazendo com que tudo parecesse pequeno a sua volta.
“Meu Deus, o que é isso?”, perguntou Vianello, enquanto o barco se aproximava.
“É o navio de cruzeiros marítimos que foi construído aqui. Dizem que é o maior do mundo.”
“É horrível”, declarou Vianello, olhando para os deques superiores do navio, quase vinte metros acima deles. “O que ele está fazendo aqui?”
“Trazendo dinheiro para a cidade, sargento”, observou Brunetti, secamente.
Vianello olhou para as águas e em seguida para as edificações da cidade. “Somos umas putas”, declarou. Brunetti achou melhor não contestar.
Bonsuan parou não muito longe do enorme navio, saiu do barco e começou a amarrá-lo na estaca metálica em forma de cogumelo que havia no ancoradouro, e que parecia ser mais apropriada para barcos maiores.
Enquanto ele descia, Brunetti disse ao piloto: “Bonsuan, você não precisa ficar nos esperando. Não sei quanto tempo vamos ficar aqui”.
“Eu espero, se o senhor não se importar”, ele respondeu, acrescentando: “Prefiro ficar aqui do que ter de voltar”. Faltavam poucos anos para Bonsuan se aposentar e ele vinha adquirindo o costume de falar
sem rodeios o que pensava, à medida que a data, embora distante, começava a surgir no horizonte.
A anuência de Brunetti e de Vianello aos sentimentos de Bonsuan não era menos forte pelo fato de eles não a expressarem. Saíram do barco e seguiram em direção ao campo, um lado da cidade ao qual Brunetti
raramente ia. Perto havia um pequeno restaurante de peixes e frutos do mar que ele e Paola costumavam frequentar, mas o estabelecimento tinha mudado de dono, a qualidade da comida tinha decaído rapidamente
e eles não foram mais lá. Quando ainda era estudante, Brunetti tivera uma namorada que morava nas redondezas, mas ela morrera havia alguns anos.
Eles atravessaram a ponte e caminharam através do campo San Sebastiano em direção à ampla área do campo Angelo Raffaele. Vianello, que ia na frente, seguiu imediatamente por uma calle à esquerda e logo
adiante viram um andaime na fachada da última edificação, uma casa de quatro andares que parecia ter sido abandonada havia muitos anos. Eles observaram os sinais que denunciavam o abandono: a pintura descascada
das venezianas verde-escuras; os buracos nas calhas de mármore graças aos quais as águas das chuvas inundariam as ruas e provavelmente a casa; uma antena quebrada, enferrujada, dependurada a um metro da
beirada do telhado. Existia, pelo menos para as pessoas nascidas em Veneza — o que significa gente nascida com o interesse de comprar e vender casas —, uma atmosfera de vazio naquela casa que não lhes
passaria despercebida mesmo se elas estivessem distraídas.
Tanto quanto os dois puderam verificar, o andaime estava abandonado e todas as venezianas estavam bem fechadas. Não havia o menor indício de que estava sendo realizada alguma obra na casa nem sinal de
que um homem se ferira fatalmente ali, embora Brunetti não soubesse muito bem como aquele fato poderia se fazer evidente.
Brunetti recuou até encostar no muro da casa ao lado. Observou toda a fachada, mas não havia o menor sinal de vida. Atravessou a calle e dessa vez estudou a casa da frente. Ela também exibia os mesmos
sinais de abandono. Ele olhou para o lado esquerdo. A calle terminava num canal e, diante dele, havia um grande jardim.
Vianello, no ritmo que lhe era próprio, deu a mesma atenção às duas casas e ao jardim. Parou ao lado de Brunetti e disse: “O senhor não acha que é possível?”.
Brunetti concordou. “Ninguém notaria o que quer que fosse. Não há ninguém nessa casa para olhar para os andaimes da casa em frente, não há sinal algum de que alguém esteja cuidando do jardim. Então, não
havia ninguém para ver Rossi cair.”
“Se é que ele caiu”, acrescentou Vianello.
Brunetti perguntou após um longo silêncio: “Temos algum indício do que aconteceu?”.
“Que eu saiba, não. Foi relatado como um acidente, penso eu, e assim os vigili urbani de San Polo teriam vindo até aqui dar uma olhada. E se eles decidissem que foi isso, um acidente, quero dizer, a coisa
terminaria aí.”
“Acho melhor irmos conversar com eles.” Brunetti desencostou do muro e olhou para a porta da casa onde havia ocorrido a queda. Um cadeado e uma corrente estavam presos num círculo de ferro, colocado no
lintel para fixar melhor a porta na estrutura de mármore.
“Como foi que ele conseguiu entrar e subir até o andaime?”, perguntou Brunetti.
“Talvez os vigili possam nos informar”, disse Vianello.
Não foi o que aconteceu. Bonsuan os levou pelo rio di San Agostino até a delegacia de polícia próxima do campo San Stin. O policial que estava na porta sabia quem eram e os acompanhou imediatamente até
o tenente Turcati, que estava de plantão. Era um homem de cabelos escuros, cujo uniforme parecia ser feito sob medida por um alfaiate. Foi o suficiente para Brunetti tratá-lo com formalidade.
Quando sentaram e ouviram o que Brunetti tinha a dizer, Turcati mandou trazer o boletim de ocorrência relativo a Rossi. O homem que telefonou para avisar do acontecido com Rossi também chamou uma ambulância
logo em seguida. Como o Hospital Giustiniani, muito mais próximo, não dispunha de ambulâncias naquele momento, Rossi foi levado para o Ospedale Civile.
“O policial Franchi está aqui?”, perguntou Brunetti, após ler o nome dele no boletim.
“Por quê?”, perguntou o tenente.
“Gostaria que ele me desse algumas informações.”
“Por exemplo?”
“O motivo de ele ter achado que foi um acidente. Se Rossi tinha as chaves da casa. Se havia sangue no andaime.”
“Entendo”, disse o tenente, tirando o telefone do gancho.
Enquanto eles aguardavam Franchi, Turcati perguntou se eles aceitariam um café, mas ambos recusaram.
Decorridos alguns minutos de uma conversa banal, um jovem policial entrou na sala. Seus cabelos eram louros, cortados tão rente que quase pareciam não existir, e ele não demonstrava ter idade para se barbear.
Bateu continência para o tenente e ficou em posição de sentido, sem olhar para Brunetti ou Vianello. Ah, é assim que o tenente Turcati administra seus negócios, pensou Brunetti.
“Estes senhores têm algumas perguntas a fazer para você, Franchi”, disse Turcati. O policial pareceu se sentir um pouco mais à vontade, mas Brunetti percebeu que ele de modo algum relaxou.
“Sim, senhor”, ele disse, mas continuou a não olhar para eles.
“Policial Franchi”, começou Brunetti, “seu relatório sobre o homem encontrado perto de San Raffaele é muito claro, mas ainda tenho algumas perguntas que gostaria de fazer.”
Ainda de olhos fixos no tenente, Franchi disse: “Pois não, senhor”.
“O senhor revistou os bolsos do homem?”
“Não, senhor. Cheguei lá junto com o pessoal da ambulância. Pegaram-no, puseram-no na maca e o levaram para um barco.” Brunetti não lhe perguntou por que ele tinha demorado tanto para ir da delegacia de
polícia até lá, o mesmo tempo que a ambulância tinha precisado para atravessar a cidade.
“Você escreveu em seu relatório que ele caiu de um andaime. Será que examinou o andaime para ver se havia algum sinal de queda? Talvez um parapeito quebrado ou uma tira de roupa, ou quem sabe uma mancha
de sangue?”
“Não, senhor.”
Brunetti esperou uma explicação, mas, como não recebeu nenhuma, perguntou: “Qual foi o motivo de não ter feito isso?”.
“Vi o rapaz estirado no chão, perto do andaime. A porta de entrada da casa estava aberta e quando examinei a carteira dele constatei que trabalhava no Ufficio Catasto. Assim, imaginei que ele tinha ido
lá executar uma tarefa.” Ele fez uma pausa e, diante do silêncio de Brunetti, acrescentou: “O senhor entende o que quero dizer”.
“Você disse que ele estava sendo levado para a ambulância no momento em que chegou lá, não é mesmo?”
“Sim, senhor.”
“Mas então como é que conseguiu pegar a carteira dele?”
“Estava no chão, meio escondida debaixo de um saco vazio de cimento.”
“E onde estava o corpo dele?”
“No chão.”
Sem alterar o tom de voz, Brunetti perguntou pacientemente: “Onde estava o corpo dele em relação ao andaime?”.
Franchi pensou na pergunta e então respondeu: “À esquerda da porta de entrada, a cerca de um metro da parede”.
“E a carteira?”
“Debaixo do saco de cimento, conforme eu disse ao senhor.”
“E quando foi que a encontrou?”
“Depois que o levaram para o hospital. Achei que deveria dar uma olhada no local e entrei na casa. A porta estava aberta quando cheguei lá, conforme escrevi no boletim de ocorrência. Já tinha visto que
as venezianas, pouco acima do lugar de onde ele caiu, estavam escancaradas, e assim não me dei ao trabalho de subir as escadas. Foi quando saí que vi a carteira e dentro havia um cartão de identificação
do Ufficio Catasto. Então imaginei que ele tinha ido até lá para inspecionar a casa ou algo assim.”
“Havia mais alguma coisa na carteira?”
“Sim, senhor, um pouco de dinheiro e alguns cartões de visita. Trouxe tudo para cá e guardei bem numa sacola de plástico. Acho que isso consta do boletim.”
Brunetti leu a segunda página do boletim e viu que a menção à carteira havia sido feita.
Encarando Franchi, perguntou: “Notou algo mais, enquanto estava lá?”.
“Que tipo de coisa, senhor?”
“Algo que parecia inusitado ou fora do lugar?”
“Não, senhor, absolutamente nada.”
“Entendo. Obrigado, Franchi.” Antes que mais alguém pudesse falar, ele perguntou ao jovem policial: “Poderia ir pegar a carteira e trazê-la para mim?”.
Franchi olhou para o tenente, que concordou.
“Sim, senhor”, ele disse, retirando-se rapidamente do escritório.
“Ele parece ser um rapaz muito enérgico”, comentou Brunetti.
“Sim, é um de meus melhores policiais”, declarou o tenente. Fez um breve relato de como Franchi se saíra bem nos cursos de treinamento, mas, antes que conseguisse terminar, o jovem estava de volta com
um saquinho de plástico. Dentro havia uma carteira de couro.
Franchi ficou parado na porta, sem saber a quem entregar.
“Entregue-a ao commissario”, disse o tenente Turcati. Franchi não conseguiu disfarçar o sobressalto quando ouviu o posto do homem que o interrogara. Aproximou-se de Brunetti, entregou-lhe o saquinho e
bateu continência.
“Obrigado”, disse Brunetti. Tirou um lenço do bolso e com ele embrulhou cuidadosamente o saquinho. Então, voltando-se para o tenente, disse: “Se quiser, assino um recibo”.
O tenente lhe entregou um papel para que Brunetti escrevesse a data, seu nome e uma descrição da carteira. Assinou e o devolveu a Turcati, antes de deixar o escritório com Vianello.
Quando saíram na larga calle começava a chover.
9.
Voltaram para o barco, debaixo de uma chuva que ficava cada vez mais intensa, contentes com o fato de Bonsuan ter insistido em esperá-los. Quando entraram no barco, Brunetti consultou o relógio e viu que
as cinco horas já tinham passado há muito tempo, o que significava que era o momento de voltar para a questura. O barco foi até o canal Grande. Bonsuan virou o barco à direita e seguiu pelo longo S que
os levaria além da Basilica e da Torre do Sino, rumo à ponte della Pietà e da questura.
Na cabine, Brunetti tirou do bolso a carteira embrulhada no lenço e a entregou a Vianello. “Quando voltarmos, você poderia levar isso até o laboratório, para que identifiquem as impressões digitais?” E
acrescentou: “Quaisquer impressões digitais no saco plástico serão de Franchi, imagino eu, e assim eles poderão excluí-las. Acho melhor você mandar alguém até o hospital para registrar as impressões digitais
de Rossi”.
“Algo mais, senhor?”
“Quando eles terminarem, envie a carteira de volta. Gostaria de dar uma olhada no que tem dentro dela. Diga a eles que é urgente.”
Vianello olhou para ele e perguntou: “E quando é que não é urgente, senhor?”.
“Diga a Bocchese que se trata de um morto. Quem sabe isso o apressa um pouco.”
“Bocchese seria a primeira pessoa a afirmar que as evidências sugerem que não há necessidade de se apressar.”
Brunetti preferiu ignorar o comentário.
Vianello guardou o lenço no bolso interno do uniforme e perguntou: “Algo mais, senhor?”.
“Quero que a signorina Elettra confira os registros para ver se existe algo sobre Rossi.” Duvidava de que existissem. Não conseguia conceber que o rapaz estivesse envolvido com crimes, mas a vida tinha
lhe dado surpresas maiores do que aquela e assim seria melhor verificar.
Vianello levantou os dedos de uma das mãos. “Desculpe, senhor. Não quero interrompê-lo, mas isso significa que vamos tratar o caso como uma investigação de assassinato?”
Ambos sabiam como a situação era difícil. Até que um magistrado fosse designado, nenhum dos dois poderia iniciar uma investigação policial. Antes que um juiz assumisse e começasse a tratar do caso como
assassinato, era preciso existir provas conclusivas de um crime. Brunetti duvidava de que sua impressão de Rossi como um homem com medo de altura seria levada em conta como prova do que quer que fosse:
de um crime, era pouco provável; de um assassinato, certamente não.
“Preciso tentar convencer o vice-questore”, afirmou Brunetti.
“Sim”, disse Vianello.
“Você parece cético.”
Vianello levantou uma sobrancelha, o que bastou.
“Ele não vai gostar disso, não é mesmo?” Mais uma vez Vianello não se manifestou. Patta permitia que a polícia aceitasse um crime quando o fato se impunha e não podia ser ignorado. Havia poucas chances
de consentir em investigar algo que parecia ser claramente um acidente. Até que o acontecido não pudesse mais ser ignorado, até que aparecessem provas incontestáveis de que Rossi não agira de propósito,
aos olhos das autoridades aquilo continuaria sendo tratado como uma fatalidade.
Brunetti era abençoado — ou amaldiçoado — com uma dupla visão psicológica que o forçava a ver dois pontos de vista em qualquer situação, e por isso sabia o quão absurdas suas suspeitas poderiam parecer
a alguém que não as compartilhasse. O bom senso dizia que ele devia abandonar tudo e aceitar o óbvio: Franco Rossi tinha morrido após a queda acidental de um andaime. “Amanhã de manhã pegue as chaves no
hospital e faça uma busca no apartamento dele.”
“E o que devo procurar?”
“Não tenho ideia. Veja se pode encontrar uma caderneta de endereços, cartas, nomes de amigos ou parentes.”
Brunetti estava tão imerso em suas especulações que não notou quando entraram no canal, e foi somente o leve choque do barco contra o cais da questura que anunciou a chegada deles.
Ambos subiram para o deque. Brunetti, em sinal de agradecimento, acenou para Bonsuan, que já estava no cais, amarrando as cordas que manteriam o barco ali. Debaixo de chuva, ele e Vianello foram até a
porta de entrada da questura, que foi aberta por um policial uniformizado. Antes que Brunetti pudesse agradecer, o rapaz disse: “O vice-questore quer vê-lo, commissario”.
“Ele ainda está aí?” Brunetti parecia surpreso.
“Sim, senhor. Mandou que lhe comunicasse assim que chegasse.”
“Muito obrigado. Então é melhor eu subir”, disse a Vianello.
Subiram juntos o primeiro lance de escada. Nenhum dos dois desejava especular o que Patta queria. No primeiro andar, Vianello entrou no corredor que levava para a escada que ia dar no laboratório em que
Bocchese, o técnico, reinava, livre de críticas e de pressa, e sobretudo do pendor à subserviência.
Brunetti foi silenciosamente até o escritório de Patta. A signorina Elettra estava sentada em sua mesa e levantou os olhos assim que ele entrou. Fez um gesto para que se aproximasse ao mesmo tempo em que
tirava o telefone do gancho e apertava um botão. Após um momento, comunicou: “O commissario Brunetti está aqui, dottore”. Após escutar a resposta de Patta, disse: “Sem dúvida, dottore”, e desligou o telefone.
“Estou achando que ele quer te pedir um favor. Só pode ser por isso que ele não esbravejou contra você a tarde inteira”, a signorina teve tempo de dizer antes que a porta abrisse e Patta aparecesse.
Seu terno cinza, observou Brunetti, devia ser de caxemira e sua gravata era o que, na Itália, passava por um acessório reservado a recepções elegantes num clube inglês. Embora a primavera tivesse sido
chuvosa, um pouco fria, o belo rosto de Patta estava firme e bronzeado. Usava óculos de formato oval e de aro fino. Já era o quinto par de óculos que Brunetti via Patta usar. Seu estilo sempre estava alguns
meses à frente de todos. Certa vez, Brunetti esqueceu seus óculos e pegou os de Patta para examinar melhor uma foto, mas descobriu que as lentes não passavam de vidro polido.
“Estava acabando de dizer ao commissario para entrar, vice-questore”, disse a signorina Elettra. Brunetti notou na mesa dela duas pastas e três papéis. Teve certeza de que não estavam lá havia pouco.
“Sim, entre, dottor Brunetti”, disse Patta, estendendo a mão num gesto que Brunetti achou perturbadoramente semelhante àquele que Clitemnestra esboçou no momento em que tentou persuadir Agamenon a descer
de sua carruagem. Ele só teve tempo de lançar um último olhar à signorina Elettra antes que Patta segurasse seu braço e o levasse com amabilidade para seu escritório.
Patta fechou a porta e atravessou a sala, em direção às duas poltronas que pusera diante das janelas. Esperou Brunetti se aproximar e indicou que se sentasse, depois fazendo o mesmo. Um decorador de interiores
teria denominado a disposição das poltronas “um ângulo de conversas”.
“Estou contente com o fato de o senhor ter reservado um tempo para mim, commissario.” Ao ouvir um leve sarcasmo naquelas palavras, Brunetti se sentiu mais à vontade.
“Tive de sair”, explicou.
“Achei que sairia na manhã de hoje”, disse Patta, e em seguida se lembrou de sorrir.
“Sim, mas precisei sair também à tarde. Foi algo tão súbito que nem tive tempo de solicitar que o avisassem.”
“Não tem telefonino, dottore?”
Brunetti, que não suportava celular e se recusava a ter um por causa de um preconceito ludista estúpido, como ele mesmo admitia, apenas disse: “Não o levei comigo, senhor”.
Desejava perguntar a Patta o motivo de estar ali, mas o aviso da signorina Elettra foi suficiente para mantê-lo em silêncio, com uma expressão neutra, como se eles fossem dois estranhos à espera do mesmo
trem.
“Queria conversar com o senhor, commissario.” Patta pigarreou e prosseguiu: “Trata-se de algo… bem, de algo pessoal”.
Brunetti precisou se controlar muito para se manter imperturbável, adotando uma expressão de interesse passivo diante do que acabava de ouvir.
Patta se recostou na cadeira e cruzou as pernas. Contemplou durante um momento as pontas reluzentes de seus sapatos. Em seguida descruzou as pernas e se inclinou para a frente. Nos poucos segundos que
levou para fazê-lo, Brunetti constatou com enorme surpresa que Patta parecia ter envelhecido muitos anos.
“Trata-se de meu filho”, ele disse.
Brunetti sabia que ele tinha dois filhos, Roberto e Salvatore. “Qual deles, senhor?”
“Roberto, o menor.”
Brunetti calculou rapidamente que Roberto deveria ter pelo menos vinte e três anos. Bem, sua própria filha, Chiara, embora tivesse quinze anos, ainda era a sua pequena e certamente sempre seria. “Ele está
na universidade, não?”
“Sim, estuda economia comercial”, respondeu Patta, mas se deteve e olhou para os pés. “Está na universidade há alguns anos”, explicou, voltando a olhar para Brunetti.
Brunetti se esforçou mais uma vez para manter uma expressão absolutamente impassível. Não queria parecer abertamente curioso em relação ao que poderia ser um problema de família e nem queria transmitir
desinteresse por qualquer coisa que Patta quisesse dizer. Fez um aceno com a cabeça, num gesto que julgou ser encorajador, o mesmo gesto que dispensava a testemunhas nervosas.
“Conhece alguém em Jesolo?”, perguntou Patta, deixando Brunetti confuso.
“Como assim, senhor?”
“Em Jesolo, na delegacia de polícia de lá. Conhece alguém?”
Brunetti refletiu durante um instante. Tinha alguns contatos na polícia do continente, mas não lá, no litoral do Adriático, em meio a boates, hotéis, discotecas e multidões de turistas de um dia que frequentavam
Jesolo e atravessavam a Laguna de barco toda manhã. Uma ex-colega da universidade servia na polícia de Grado, mas ele não conhecia ninguém em Jesolo, que ficava perto de lá. “Não, senhor, não conheço.”
Patta não conseguiu disfarçar sua decepção. “Esperava que conhecesse.”
“Sinto muito.” Brunetti pensou em suas opções, estudando o imóvel Patta, que voltara a olhar para o bico dos sapatos, e decidiu se arriscar. “Qual é o motivo de sua pergunta?”
Patta o encarou, desviou o olhar e voltou a encará-lo, dizendo por fim: “A polícia de lá telefonou para mim ontem à noite. Tem alguém que trabalha para eles, o senhor sabe como é”. Claro que ele estava
falando de um informante ou algo do gênero. “Algumas semanas atrás a tal pessoa disse para eles que Roberto estava vendendo drogas.” Patta não continuou.
Quando se tornou óbvio que o vice-questore não iria dizer mais nada, Brunetti perguntou: “Por qual motivo eles telefonaram para o senhor?”.
Patta prosseguiu, como se Brunetti não tivesse formulado a pergunta. “Julguei que talvez o senhor conhecesse alguém lá e que pudesse nos dar uma ideia mais clara do que estava acontecendo, quem é essa
pessoa e há quanto tempo eles estão investigando.” Mais uma vez ocorreu a Brunetti a palavra “informante”, mas ele se manteve prudente. Reagindo a seu silêncio, Patta acrescentou: “Esse tipo de coisa”.
“Sinto muito, realmente não conheço ninguém lá… mas poderia perguntar a Vianello.” Antes que Patta pudesse responder, Brunetti se adiantou: “Ele é discreto, quanto a isso não há nada a temer”.
Patta não se mexeu e desviou o olhar de Brunetti. Em seguida sacudiu vigorosamente a cabeça, descartando a possibilidade de aceitar a ajuda de um homem uniformizado.
“Algo mais, senhor?”, Brunetti perguntou, pondo as mãos nos braços da cadeira para demonstrar que estava pronto para se retirar.
Ao observar seu gesto, Patta falou em tom mais baixo: “Eles o prenderam”. Olhou para Brunetti, mas, constatando que ele não tinha mais perguntas a fazer, continuou: “Ele foi preso ontem à noite. Telefonaram
por volta de uma hora. Houve briga numa das boates e quando a polícia foi lá, deteve algumas pessoas e as revistou. Acho que foi por causa do que aquela pessoa contou que revistaram Roberto”.
Brunetti permaneceu em silêncio. Uma vez que as testemunhas tinham ido tão longe, não havia como obrigá-las a parar. Era o que dizia sua longa experiência. Tudo viria à tona.
“Eles encontraram no bolso da jaqueta dele um envelope de plástico com ecstasy.” Patta se inclinou e perguntou. “O senhor sabe o que é isso, não é mesmo, commissario?”
Brunetti assentiu, espantado com o fato de Patta achar possível um policial não ter conhecimento do que era ecstasy. Sabia que qualquer coisa que dissesse cortaria o jorro de palavras de Patta. Relaxou
a postura o máximo que pôde, tirou uma das mãos do braço da cadeira e se manteve numa posição que parecia ser mais confortável.
“Roberto disse que alguém deve ter plantado aquilo no bolso dele quando os policiais chegaram. Esse tipo de coisa acontece com frequência.” Brunetti sabia disso, mas também sabia que com a mesma frequência
aquilo não acontecia.
“Eles me telefonaram e eu fui até lá. Sabiam quem era Roberto e sugeriram minha presença. Quando cheguei, eles o entregaram a mim. Ao voltarmos, meu filho me falou do envelope.” Patta não prosseguiu e
sua fala parecia ter chegado ao fim.
“E eles mantiveram o envelope como prova?”
“Sim, e registraram as impressões digitais dele para ver se conferiam com quaisquer outras impressões que encontrassem no envelope.”
“Se ele tirou o envelope do bolso para entregar para os policiais, então não tinha como não ter as impressões digitais dele.”
“Sim, eu sei”, disse Patta. “Foi por isso que não fiquei tão preocupado. Sequer me dei ao trabalho de telefonar para meu advogado. Não havia provas, mesmo que as impressões digitais estivessem lá. O que
Roberto declarou pode ser verdade.”
Brunetti acenou, em silenciosa concordância, esperando saber o motivo pelo qual Patta considerava tudo aquilo não mais do que uma possibilidade.
Patta se apoiou no encosto da cadeira e direcionou o olhar para fora da janela. “Eles me telefonaram esta manhã, depois que o senhor saiu.”
“Foi por isso que o senhor queria me ver?”
“Não, eu queria lhe perguntar outra coisa, mas agora ela não é mais importante.”
“O que foi que eles disseram ao senhor?”, Brunetti perguntou, finalmente.
Patta esqueceu o que quer que estivesse observando através da janela e encarou Brunetti. “Disseram que dentro do envelope, que era grande, encontraram quarenta e sete envelopes menores e que cada um deles
continha uma pílula de ecstasy.”
Brunetti tentou calcular o peso e o valor das drogas para ter uma ideia do rigor que o caso exigiria de um juiz. Ao que parecia, não se tratava de uma quantidade enorme, e se Roberto mantivesse a versão
de que alguém enfiara a droga em seu bolso, ele não via um perigo legal sério para o rapaz.
“As impressões digitais dele também estavam nos envelopes pequenos. Em todos eles.” Patta silenciou.
Brunetti resistiu ao impulso de, em solidariedade, pousar a mão no braço de Patta. Em vez disso esperou alguns instantes e disse: “Sinto muito, senhor”.
Ainda sem olhar para ele, Patta esboçou um gesto de agradecimento ou de reconhecimento.
Após um minuto Brunetti perguntou: “Foi no Jesolo mesmo ou no Lido?”.
Patta olhou para Brunetti e sacudiu a cabeça, como um lutador se esquivando de um golpe. “O quê?”
“Onde aconteceu. Foi no Jesolo ou no Lido di Jesolo?”
“No Lido.”
“E onde ele estava ao ser…” Brunetti pretendia empregar o termo “preso”, mas em vez disso falou: “detido?”.
“Acabo de dizer”, Patta retrucou numa voz que denunciava que ele estava a um passo da irritação. “Lido di Jesolo.”
“Mas em que lugar? Num bar? Numa boate?”
Patta cerrou os olhos e Brunetti imaginou quanto tempo ele deveria ter passado remoendo tudo aquilo, pensando em tudo que tinha acontecido na vida do filho.
“Foi num lugar chamado Luxor, uma boate”, ele disse, finalmente.
Um “Ah” muito leve escapou dos lábios de Brunetti, mas foi o suficiente para que Patta reagisse. “O quê?”
Brunetti logo cortou a expectativa. “Eu conheci alguém que frequentava essa boate”, disse.
Quando aquela esperança ainda informe morreu, Patta se fechou nos seus pensamentos.
“O senhor contatou um advogado?”
“Sim. Donatini.” Brunetti disfarçou a surpresa com breve gesto de concordância, como se o advogado número um dos acusados de ligação com a Máfia fosse uma escolha óbvia de Patta.
“Ficaria muito grato, commissario, se…” Patta não foi adiante, pensando na melhor maneira de dizer o que pretendia.
“Vou refletir mais sobre o assunto, senhor”, interrompeu Brunetti. “E é claro que não vou comentar nada com ninguém.” Por mais que desprezasse muitas atitudes de Patta, jamais o submeteria ao constrangimento
de ter de pedir a mais absoluta discrição sobre o acontecido.
Patta reagiu à firmeza com que Brunetti se expressou e levantou. Acompanhou-o até a porta. Não estendeu a mão, num gesto de despedida, mas disse um breve “muito obrigado”, e voltou para o escritório fechando
a porta atrás de si.
Brunetti viu que a signorina Elettra estava na mesa dela, embora as pastas e papéis tivessem sido substituídos por algo que parecia grosso e brilhante o suficiente para ser a edição de primavera/verão
da revista Vogue.
“É o filho dele?”, ela perguntou, pondo a revista de lado.
A pergunta escapou antes que ele conseguisse se controlar. “A signorina espiona o dottore?” Sua intenção era fazer uma piada, mas assim que a pergunta escapou ele não teve certeza disso.
“Não. Ele recebeu um telefonema do rapaz hoje de manhã. Parecia estar muito nervoso. Depois recebeu um telefonema da polícia. Assim que falou com eles, pediu que verificasse o número do telefone de Donatini.”
Brunetti refletiu se poderia pedir à signorina Elettra que deixasse de ser secretária e entrasse para a polícia. Sabia, porém, que ela preferiria morrer a vestir um uniforme.
“A senhorita o conhece?”
“Quem, Donatini ou o rapaz?”
“Um dos dois ou ambos.”
“Conheço ambos”, ela disse casualmente. “Os dois não prestam, mas Donatini se veste melhor.”
“Ele não lhe disse do que se tratava?” Brunetti indicou o escritório de Patta.
“Não”, ela declarou, sem parecer nem um pouco desapontada. “Caso se tratasse de um estupro, os jornais noticiariam. Assim, penso que são drogas. Donatini vai ter de ser esperto para libertar o rapaz.”
“Acha que ele é capaz de cometer um estupro?”
“Quem, Roberto?”
“Sim.”
Ela refletiu durante um segundo e disse: “Não, suponho que não. Ele é arrogante, se dá muita importância, mas acho que não é de todo mau”.
Algo levou Brunetti a perguntar: “E Donatini?”.
Ela respondeu sem hesitar. “É capaz de fazer qualquer coisa.”
“Não sabia que a senhorita o conhecia.”
A signorina olhou para a revista, virou uma página, querendo transmitir a impressão de que aquilo era um gesto casual. “Sim.” Ela virou outra página.
“Ele me pediu para ajudá-lo.”
“Quem? O vice-questore?” Ela parecia surpreendida.
“Sim.”
“E o senhor está disposto a ajudá-lo?”
“Se eu puder, sim.”
Ela ficou olhando Brunetti durante muito tempo e em seguida desviou a atenção para a revista. “Acho que o cinza não durará muito tempo no mundo em que vivemos. Todas estamos cansadas dele.”
A signorina Elettra usava uma blusa de seda cor de pêssego e um casaco preto, de gola alta, que Brunetti achou que era de seda crua.
“A senhorita provavelmente tem razão”, disse Brunetti. Desejou-lhe boa tarde e voltou para seu escritório.
10.
Brunetti precisou recorrer à telefonista para conseguir o número da boate Luxor, mas quando ligou a pessoa que atendeu disse que o signor Bertocco não estava e se recusou a dar o número de telefone da
casa dele. Brunetti não disse que era da polícia. Em vez disso voltou a discar para a telefonista, que informou sem a menor dificuldade o número da casa de Luca.
“O sujeitinho se acha importante”, Brunetti murmurou, enquanto discava.
O telefone tocou três vezes, e ele ouviu uma voz profunda, um pouco áspera. “Bertocco.”
“Ciao, Luca, quem fala é Guido Brunetti. Como vai?”
A formalidade da voz desapareceu, substituída por uma acolhida afetuosa. “Vou bem, Guido. Não tenho notícias suas há séculos. Como estão você, Paola e as crianças?”
“Todo mundo está bem.”
“Decidiu finalmente aceitar minha oferta e vir dançar até não aguentar mais?”
Brunetti riu. Era uma piada que se repetia há mais de uma década. “Não. Receio decepcioná-lo de novo, Luca. Por mais que você saiba o quanto desejo aparecer na boate e dançar até amanhecer no meio de gente
da idade dos meus filhos, Paola não vai aceitar nunca.”
“É por causa da fumaça? Ela acha que é ruim para a saúde?”
“Não, acho que é por causa da música, vai ver ela pensa que a música também me faz mal.”
Depois de uma breve pausa, Luca disse: “Provavelmente ela tem razão”. Como Brunetti ficou em silêncio, ele perguntou: “Mas então por que você está me telefonando? É a respeito do rapaz que foi preso?”.
“Sim”, disse Brunetti, sem sequer fingir que estava surpreendido com o fato de Luca já saber do ocorrido.
“Ele é filho de seu chefe, não?”
“Você está por dentro de tudo.”
“Um homem que está à frente de cinco boates, três hotéis e seis bares tem de saber tudo, especialmente sobre as pessoas que são presas em qualquer um desses lugares.”
“O que você sabe em relação ao rapaz?”
“Somente o que os policiais me disseram.”
“Mas quais policiais? Os que o prenderam ou os que trabalham para você?”
O silêncio que se seguiu à pergunta fez Brunetti se dar conta não apenas de que tinha ido longe demais mas também de que, por mais que Luca fosse seu amigo, ele sempre o encararia como um policial.
“Não tenho certeza da resposta, Guido”, Luca disse finalmente. Sua voz foi interrompida pela tosse explosiva de um fumante inveterado.
A tosse seguiu por muito tempo. Brunetti aguardou e, quando ela chegou ao fim, disse: “Desculpe, Luca. Foi uma piada infeliz”.
“Não tem importância, Guido. Acredite em mim: qualquer pessoa tão envolvida com o público quanto eu precisa de toda a colaboração possível da polícia. E ela fica contente de obter de mim toda e qualquer
ajuda.”
Brunetti, pensando em pequenos envelopes que trocavam discretamente de mão nos departamentos da prefeitura, perguntou: “Que tipo de ajuda?”.
“Tenho guardas particulares que trabalham nos estacionamentos das boates.”
“Para quê?”, ele perguntou, pensando nos assaltantes e na vulnerabilidade da garotada que saía por aí trançando as pernas às três da madrugada.
“Para ficar com as chaves dos carros dos frequentadores.”
“E ninguém se queixa?”
“Quem é que vai reclamar? Os pais, pelo fato de que eu impeço os meninos de dirigir caindo de bêbados ou totalmente chapados? Ou a polícia, porque eu não deixo ninguém sair da pista e se esborrachar numa
árvore?”
“Não, imagino que não. Não pensei nisso.”
“O que eu quero dizer é que a polícia não é despertada às três da madrugada para conferir corpos atirados dos carros. Acredite em mim, os policiais ficam muito felizes em me ajudar o quanto podem.” Ele
fez uma pausa e Brunetti ouviu o ruído de um fósforo riscando, após o que Luca acendeu um cigarro e deu a primeira baforada. “O que você quer de mim? Que eu abafe essa história?”
“Você poderia?”
Se dar de ombros pudesse produzir sons, Brunetti ouviria um deles. Luca disse finalmente: “Não respondo enquanto não souber se você quer ou não que eu abafe”.
“Eu não me referi a abafar no sentido de que o que aconteceu desapareça, mas gostaria que você mantivesse o fato fora do alcance dos jornais, se for possível.”
Luca fez uma pausa antes de responder. “Gasto muita grana com publicidade”, disse finalmente.
“Isso quer dizer que você concorda com meu pedido?”
Luca caiu na risada, que logo se transformou numa tosse profunda e penetrante. Quando se recuperou, disse: “Você está sempre querendo que as coisas fiquem claras demais, Guido. Não sei como Paola consegue
suportar”.
“Tudo se torna mais fácil para mim quando as coisas ficam claras.”
“Como policial?”
“Como tudo.”
“Muito bem. Considere que eu disse sim. Conseguirei manter o fato longe dos jornais locais e duvido que os grandes jornais se interessem.”
“O pai do rapaz é o vice-questore de Veneza”, declarou Brunetti, num acesso perverso de orgulho provinciano.
“Receio que isso não signifique muita coisa para os caras lá de Roma”, declarou Luca.
Brunetti pensou nisso. “Acho que você está certo.” Antes que Luca pudesse concordar, perguntou: “O que eles dizem sobre o rapaz?”.
“Que a situação dele não é das melhores. As impressões digitais estão em todos os envelopes pequenos.”
“Ele já foi indiciado?”
“Não. Pelo menos acho que não.”
“E o que eles estão esperando?”
“Querem que ele conte com quem conseguiu o ecstasy.”
“E eles não sabem?”
“Mas é claro que sabem. Saber não significa provar. Tenho certeza de que você consegue entender isso.” Tais palavras foram ditas com certa ironia. De vez em quando Brunetti pensava que a Itália era um
país em que todo mundo sabia de tudo, ao mesmo tempo em que ninguém se dispunha a dizer o que quer que fosse. Na vida privada, ninguém tinha papas na língua para pontificar sobre as atitudes secretas dos
políticos, dos líderes da Máfia, das estrelas e astros de cinema. Se tais comentários pudessem ter consequências legais, a Itália se tornaria a maior penitenciária do planeta.
“E você sabe quem ele é?”, perguntou Brunetti. “Pode me dizer o nome?”
“Prefiro não dizer. Não vai adiantar nada. Existe alguém acima dele e depois alguém acima desse outro.” Brunetti o ouviu acender mais um cigarro.
“O rapaz contará a eles de quem se trata?”
“Se ele tiver amor à própria vida, não”, declarou Luca, para acrescentar em seguida: “Estou exagerando. Ele não vai dizer nada se quiser evitar um belo corretivo”.
“Até mesmo em Jesolo?”, perguntou Brunetti. Então os crimes de cidade grande tinham chegado àquela sonolenta cidadezinha do Adriático…
“Especialmente em Jesolo, Guido”, afirmou Luca, sem dar nenhuma explicação.
“E o que vai acontecer com ele?”
“Você deveria ser capaz de responder melhor do que eu. Se for uma simples contravenção ele vai tomar uns tapinhas e depois vai ser despachado de volta para casa.”
“Ele já está em casa.”
“Eu sei. É modo de dizer. O fato de o pai dele ser policial ajuda.”
“A menos que os jornais noticiem.”
“Eu já disse. Quanto a isso, pode ficar tranquilo.”
“Espero que sim.”
Luca se segurou para não dar uma resposta atravessada. Tentando quebrar o silêncio que se prolongava, Brunetti perguntou: “E você como está, Luca? Como tem passado?”.
Luca pigarreou, um som úmido que incomodou Brunetti. “O mesmo de sempre”, ele disse, voltando a tossir.
“E Maria?”
“Aquele trambolho”, disse Luca, enraivecido. “Ela só quer saber do meu dinheiro. Tem sorte por eu não pôr ela no olho da rua.”
“Luca, ela é mãe de seus filhos.”
Brunetti quase conseguia sentir Luca dominando o impulso de se enfurecer com ele por se intrometer com um comentário daqueles. “Não quero tocar nesse assunto com você, Guido.”
“Está bem. Você sabe que eu falei só porque conheço você há muito tempo.” Ele parou e acrescentou: “Conheço vocês dois, aliás”.
“Eu sei, mas as coisas mudam.” Fez-se mais um silêncio e então Luca repetiu com certa frieza: “Não quero tocar nesse assunto com você, Guido”.
“Está certo. Desculpe por ficar sem telefonar durante tanto tempo.”
Com a indulgência fácil das longas amizades, Luca disse: “Eu também não telefonei, não é mesmo?”.
“Não tem importância.”
“Não tem mesmo”, concordou Luca, rindo, o que trouxe de volta seu antigo tom de voz e sua antiga tosse.
Encorajado, Brunetti perguntou: “Se ouvir falar de algo mais você me comunica?”.
“Claro que sim.”
Antes que Luca pudesse desligar, Brunetti perguntou: “Você sabe algo mais sobre os homens de quem o rapaz obteve a droga e onde que eles conseguiram os comprimidos de ecstasy?”.
A cautela voltou à voz de Luca: “Do que é que você está falando?”.
“Quero saber se eles…” Brunetti não sabia bem como definir o que aqueles sujeitos faziam. “Se eles traficam em Veneza.”
“Ah”, Luca suspirou. “Até onde eu sei não há muitas oportunidades para eles aí. A população é velha demais e é muito fácil para a garotada ir atrás dessas coisas no continente.”
Brunetti se deu conta de que não era nada além de egoísmo o que o deixou tão contente ao ouvir aquilo: qualquer homem que tivesse dois filhos adolescentes, por mais que tivesse certeza do caráter e das
inclinações deles, ficaria feliz ao saber que havia pouco tráfico de drogas na cidade onde sua família morava.
O instinto disse a Brunetti que ele não iria obter mais nenhuma informação de Luca. De qualquer modo, saber os nomes dos homens que vendiam drogas não faria a menor diferença.
“Muito obrigado, Luca. Cuide-se.”
“Você também, Guido.”
Aquela noite, conversando com Paola depois que os filhos foram dormir, Guido falou daquela rápida troca de palavras com Luca e da explosão de raiva provocada pela simples menção do nome da mulher. “Você
nunca gostou dele tanto quanto eu”, disse Brunetti como se isso explicasse ou desculpasse de certa forma o comportamento de Luca.
“O que você quer dizer com isso?”, perguntou Paola sem nenhum rancor.
Eles estavam sentados em cantos opostos do sofá e puseram seus livros de lado quando começaram a conversar. Brunetti pensou durante muito tempo na pergunta dela antes de responder: “Que você tende a ser
mais solidária com Maria do que com Luca”.
“Mas Luca tem razão”, Paola afirmou, voltando depois todo o corpo para ele. “Ela é um trambolho, sim.”
“Achei que você gostava dela.”
“Gosto, mas isso não impede que Luca tenha razão ao dizer que ela é um trambolho. No entanto, foi ele quem a transformou num trambolho. Quando se casaram, ela era dentista, mas ele pediu que Maria parasse
de trabalhar. Depois que Paolo nasceu, Luca disse que ela não precisava voltar, pois ele ganhava o suficiente com os clubes para que tivessem um padrão de vida muito confortável. E assim ela largou a carreira.”
“E daí?”, Brunetti a interrompeu. “Em que isso o torna responsável pelo fato de ela ter se tornado um trambolho?” Assim que fez a pergunta, ele se deu conta do absurdo daquela palavra e como ela era ofensiva.
“Eles se mudaram para Jesolo, porque lá era um lugar mais conveniente para ele supervisionar os clubes. E Maria o acompanhou.” Agora havia truculência no tom com que Paola se exprimia.
“Ninguém apontou um revólver na cabeça dela, Paola.”
“É claro que ninguém apontou um revólver e ninguém precisaria apontar. Ela estava apaixonada.” Ao notar a expressão de Brunetti, ela se corrigiu. “Tá bem, os dois estavam apaixonados.” Fez uma breve pausa
e continuou: “Pois então, ela saiu de Veneza para ir morar em Jesolo, uma cidadezinha de sol e praia e, pelo amor de Deus, virou dona de casa e mãe”.
“Paola, isso não é nenhum crime.”
Apesar do olhar irado que o comentário provocou, ela não perdeu a calma. “Sei que não é crime, não é isso que eu quero dizer. Ela, porém, desistiu de uma profissão da qual gostava, na qual era muito competente,
e foi para um fim de mundo criar dois filhos e cuidar de um marido que bebia demais, fumava demais e tinha mulheres às pencas.” A prudência aconselhava Brunetti a não derramar gasolina naquela chama. Paola
seguiu em frente.
“Agora, depois de mais de vinte anos morando lá, Maria virou um trambolho. É gorda, chata, parece que não sabe conversar sobre qualquer outra coisa fora os filhos e seu grande talento como cozinheira.”
Ela olhou para Brunetti, mas ele não se manifestou. “Quanto tempo faz que vimos os dois juntos? Dois anos? Lembra-se de como a última vez foi desagradável? Ela não nos dava trégua, perguntava se queríamos
mais comida, mostrava fotos e mais fotos daqueles filhos que nada tinham de excepcional.”
Foi um dia muito constrangedor para todos, exceto para Maria, que parecia não perceber como eles achavam seu comportamento tedioso.
Brunetti perguntou com candura quase infantil: “Isso não vai virar uma briga, não é mesmo?”.
Paola encostou a cabeça no sofá e riu. “Não vai, não. Acho que esse meu jeito de falar mostra que eu tenho bem pouca simpatia por ela. E como me sinto culpada por isso.” Ela esperou para ver como Brunetti
reagia à sua confissão e prosseguiu: “Ela podia ter feito um monte de coisas e não fez nada. Recusou ajuda com as crianças para poder sair para trabalhar, mesmo que fosse meio período, no consultório de
alguém. Não renovou a inscrição na Associação de Odontologia e aos poucos foi perdendo o interesse por tudo o que não tivesse a ver com os dois meninos, e ainda por cima engordou”.
Ao se certificar de que Paola tinha terminado, Brunetti observou: “Não tenho certeza de como você vai encarar o que vou dizer, mas suas palavras se assemelham às alegações e desculpas de muitos maridos
que traem”.
“São as desculpas que eles dão para trair?”
“Sim.”
“Tenho certeza que eles traem mesmo.” Seu tom era resoluto, mas de modo algum irado.
Ela, pelo visto, não iria prosseguir e Brunetti perguntou: “E daí…?”.
“E daí nada. A vida ofereceu a Maria uma série de escolhas que poderiam ter feito com que as coisas fossem diferentes e ela fez as escolhas que todo mundo sabe. Meu palpite é que cada uma dessas escolhas
tornava a próxima inevitável, a partir do momento em que ela concordou em parar de trabalhar e ir embora de Veneza. Mesmo assim continuou escolhendo quando ninguém, como você disse, estava apontando um
revólver para a cabeça dela.”
“Sinto muito por ela”, disse Brunetti. “Sinto pelos dois.”
Paola, voltando a apoiar a cabeça no encosto do sofá, fechou os olhos e disse: “Eu também”. Após alguns momentos perguntou: “Você ficou contente por eu ter continuado no meu emprego?”.
Brunetti deu à pergunta a atenção que ela merecia e respondeu: “Particularmente, não. Mas fico bem feliz por você não ter engordado”.
11.
No dia seguinte Patta não apareceu na questura e a única explicação que deu foi quando telefonou para a signorina Elettra, comunicando o que, àquela altura, se tornara evidente: ele não estaria lá. A signorina
não perguntou nada, mas fez questão de telefonar para Brunetti para dizer que na ausência do vice-questore ele deveria substituí-lo. O questore estava de férias na Irlanda.
Às nove horas, Vianello telefonou para contar que, no hospital, lhe haviam entregado as chaves do apartamento de Rossi. Ali nada parecia estar fora do lugar e os únicos papéis eram contas e recibos. Encontrara
uma caderneta de endereços ao lado do telefone, e Pucetti estava ligando para todos os números anotados. Até então, o único parente localizado era um tio em Veneza, que já tinha sido convocado pelo hospital
e estava cuidando do enterro. Bocchese, o técnico do laboratório, telefonou logo em seguida e comunicou que estava enviando a carteira de Rossi com um dos policiais ao escritório de Brunetti.
“Tem algo dentro da carteira?”
“Não, apenas as impressões digitais dele e algumas daquele garoto que o encontrou.”
No mesmo instante ficou curioso diante da possibilidade de que poderia haver outra testemunha. Brunetti perguntou: “Qual garoto?”.
“O jovem policial. Não sei o nome dele. Para mim todos são garotos.”
“É Franchi!”
“O senhor é quem afirma”, disse Bocchese mostrando pouco interesse. “Tenho as impressões digitais dele numa pasta e elas combinam com aquelas que estão na carteira.”
“Algo mais?”
“Não. Não olhei o que tinha dentro da carteira, apenas chequei as impressões digitais.”
Um jovem policial, um dos novatos que Brunetti achava muito difícil chamar pelo nome, apareceu na porta. Atendendo a um gesto do commissario, ele entrou e pôs a carteira ainda dentro de um saco de plástico
em cima da mesa.
Brunetti prendeu o telefone debaixo do queixo e pegou o pacote. Ao abri-lo, perguntou a Bocchese: “Tem impressões digitais dentro dele?”.
“Já disse que as únicas impressões estão na carteira”, reafirmou o técnico, desligando.
Brunetti pôs o telefone no gancho. Um coronel dos carabiniere comentou certa vez que Bocchese era tão competente que conseguia localizar impressões digitais numa substância tão pegajosa quanto a alma de
um político, o que lhe garantia um raio de ação maior do que aquele concedido à maioria do pessoal da questura. Brunetti tratou de se acostumar com a constante irritabilidade de Bocchese; para falar a
verdade, os anos de contato o deixaram insensível a ela. O mau humor do técnico era compensado pela eficiência impecável de seu trabalho, que mais de uma vez superou o obstinado ceticismo dos advogados
de defesa.
Brunetti abriu o envelope e pegou a carteira. Era curva, tinha assumido o formato do quadril de Rossi depois de anos de uso. O couro marrom estava vincado no meio e ligeiramente esfolado. Ele abriu a carteira
e a pressionou sobre a mesa. No compartimento do lado esquerdo havia quatro cartões de plástico: Visa, Standa, a carteira de identificação expedida pelo Ufficio Catasto e a Carta Venezia que permitia aos
residentes na cidade pagar uma passagem mais barata. Brunetti tirou os cartões e estudou a foto de Rossi nos dois últimos. Elas tinham sido impressas por algum tipo de processo holográfico e se tornavam
quase invisíveis quando a luminosidade as atingia a partir de certo ângulo, mas era Rossi, sem a menor dúvida.
No lado direito havia uma bolsinha para guardar moedas fechada por um zíper. Brunetti a abriu e despejou as moedas sobre a mesa. Havia algumas de mil liras novas, algumas de quinhentas liras e uma de cada
um dos três tamanhos de mil liras ainda em circulação. Será que as outras pessoas, como ele, achavam esquisito que houvesse uma moeda com três tamanhos? O que poderia explicar tal loucura?
Brunetti abriu outro compartimento da carteira e tirou um maço de notas. Estavam dispostas na mais perfeita ordem. As notas mais altas ficavam no fundo e as menores se enfileiravam na frente. Ele conferiu
o valor: 1187 liras.
Brunetti olhou mais uma vez o compartimento para verificar se havia deixado passar algo, mas não era o caso. Em seguida, conferiu o lado esquerdo e retirou algumas passagens de vaporetto, a nota fiscal
de um bar, referente a três mil liras, três notas de cem liras e alguns selos de oitocentas liras cada um. Encontrou do outro lado mais uma nota de bar, em cujo verso havia um número de telefone. Ele concluiu
que não se tratava de um número de Veneza, embora não houvesse o código de área. E foi tudo. Nenhum nome, nenhum bilhete do morto para ser lido caso algo acontecesse, nada daquilo que se costuma encontrar
nas carteiras de quem morreu por violência autoinfligida.
Brunetti guardou o dinheiro na carteira e a pôs de volta no saco de plástico. Tirou o telefone do gancho e discou o número de Rizzardi. A autópsia devia estar pronta, e ele estava curioso para saber algo
mais sobre o estranho ferimento na testa de Rossi.
O médico atendeu no segundo toque, e eles se cumprimentaram educadamente. Então Rizzardi perguntou: “Está querendo saber notícias de Rossi?”. Depois da resposta afirmativa, ele prosseguiu: “Se o senhor
não tivesse me telefonado, eu lhe telefonaria”.
“Por quê?”
“Devido ao ferimento. Dois ferimentos, na verdade. Na cabeça dele.”
“E o que o senhor tem a dizer?”
“Um deles é achatado, tem pedacinhos de cimento. Isso aconteceu quando ele caiu na calçada. No lado esquerdo, porém, há outro ferimento, tubular, isto é, feito por algo cilíndrico, como os canos usados
para construir a impalcatura que foi colocada em torno do prédio, embora a circunferência pareça menor do que os canos empregados habitualmente, pelo que eu me lembro.”
“E daí?”
“Não existe sinal algum de ferrugem no ferimento. Esses canos em geral são imundos, com todo tipo de sujeira, ferrugem, tinta, mas o ferimento não tinha nada disso.”
“Podem ter lavado no hospital.”
“Lavaram, mas havia vestígios de metal no ferimento menor, dentro dos ossos do crânio. Somente metal, sem sujeira, ferrugem ou tinta.”
“Que tipo de metal?”, perguntou Brunetti, desconfiado de que alguma coisa além da ausência de algo tinha levado Rizzardi a pensar em ligar.
“Cobre.” Brunetti não fez comentário algum, e Rizzardi prosseguiu: “Não faz parte das minhas atribuições dizer como você deve trabalhar, mas seria uma boa ideia levar ainda hoje — ou quanto antes — uma
equipe especializada em reconstituição de crimes”.
“É o que vou fazer”, disse Brunetti, contente por estar encarregado da questura naquele dia. “O que mais o senhor encontrou?”
“Os dois braços estavam quebrados, mas creio que isso o senhor sabe. As mãos dele estavam esfoladas, mas pode ser resultado da queda.”
“O senhor tem ideia de qual altura ele caiu?”
“Não sou um entendido nessas coisas, elas acontecem com pouca frequência, mas consultei alguns livros e diria que foi de uma altura de dez metros.”
“Do terceiro andar?”
“Possivelmente. Pelo menos do segundo.”
“O senhor pode dizer algo a partir do jeito como ele caiu?”
“Não, mas parece que ele tentou se arrastar um pouco. A calça, na altura dos joelhos, ficou esburacada, e os joelhos estão ralados. O mesmo se observa em um dos tornozelos, e eu diria que isso é porque
ele se arrastou pela calçada.”
Brunetti interrompeu o médico: “Teria como dizer qual dos ferimentos o matou?”.
“Não.” A resposta de Rizzardi foi tão imediata que Brunetti se deu conta de que ele devia estar esperando a pergunta. O médico aguardou, mas Brunetti conseguiu apenas formular um vago “Algo mais?”.
“Não. Ele era saudável e poderia ter vivido por muito tempo.”
“Que lástima.”
“O homem do necrotério disse que o senhor o conhecia. Era amigo dele?”
Brunetti não hesitou: “Era, sim”.
12.
Brunetti telefonou para o escritório da Telecom e se identificou como policial. Explicou que estava tentando localizar um número, mas não tinha o código de área, apenas os sete últimos dígitos. Perguntou
se a Telecom poderia informar os nomes das cidades onde aquele número existia. Sem pensar em verificar a autenticidade do telefonema e sem que Brunetti sugerisse que ela o contatasse na questura, a telefonista
pediu que ele aguardasse enquanto consultava seu computador. Pelo menos não havia fundo musical… Ela retornou rapidamente e disse que as possibilidades eram Piacenza, Ferrara, Aquilea e Messina.
Brunetti então pediu que ela lhe dissesse os nomes dos assinantes, mas a essa altura a telefonista recorreu às regras da Telecom, à lei da privacidade e aos “procedimentos aprovados”. Explicou que precisava
de um telefonema da polícia ou de algum outro órgão do Estado. Pacientemente, mantendo um tom calmo, Brunetti voltou a explicar que era commissario da polícia, que ela podia telefonar para ele na questura
de Veneza. Quando a telefonista solicitou o número, Brunetti resistiu à tentação de perguntar se não seria melhor ela conferir o número na lista telefônica para ter certeza de que estava ligando para o
lugar certo. Em vez disso, deu o número, repetiu seu nome e desligou. O telefone tocou quase imediatamente, e a telefonista informou quatro nomes e endereços.
Os nomes não disseram nada. O número de Piacenza era o de uma agência de aluguel de automóveis, o de Ferrara tinha dois nomes, que poderiam ser de um escritório ou uma loja. Os outros dois aparentavam
ser residências. Ligou para o número de Piacenza, esperou, e, quando ouviu a voz de um homem do outro lado da linha, o commissario contou que era da polícia de Veneza. Pediu que eles conferissem seus registros
e verificassem se haviam alugado algum carro para um homem chamado Franco Rossi, de Veneza, ou se o conheciam. O homem pediu a Brunetti que aguardasse e falou com outra pessoa. Uma mulher solicitou que
ele repetisse o pedido. Ele tornou a fazer sua pergunta, e a mulher lhe pediu para esperar um momento, que se alongou por alguns minutos. No entanto, a mulher reapareceu, dizendo que sentia muito, mas
eles não tinham registro de um cliente com aquele nome.
No número de Ferrara havia apenas uma mensagem dizendo que ali era o escritório de Gavini e Cappelli e solicitando que deixassem nome, telefone e o motivo da chamada.
Em Aquilea, a voz ao telefone parecia ser a de uma senhora idosa que disse jamais ter ouvido falar de Franco Rossi. O número de Messina estava fora de serviço, conforme a telefonista local informou.
Brunetti não encontrou a carteira de motorista de Rossi. Mesmo que muitos moradores de Veneza não dirigissem, ele poderia ter uma: a ausência de estradas não era o bastante para impedir um italiano de
exercer sua volúpia pela velocidade. Discou para o departamento de habilitação e foi informado de que tinham sido expedidas carteiras para nove Francos Rossi. Brunetti conferiu a identidade dele no Ufficio
Catasto e informou sua data de nascimento. Nenhuma carteira de motorista lhe tinha sido concedida.
Tentou mais uma vez o número de Ferrara, que continuava a não responder. Seu telefone tocou.
“Commissario?” Era Vianello.
“Sim.”
“Acabamos de receber um telefonema da delegacia de Cannaregio.”
“A que fica perto dos Tre Archi?”
“Sim, senhor.”
“Do que se trata?”
“Eles receberam a ligação de um homem que disse sentir um cheiro vindo do apartamento acima do dele, um cheiro ruim.”
Brunetti esperou. Não era preciso ter muita imaginação para desconfiar do que estava por vir. Afinal de contas, os commissari da polícia não recebiam telefonemas sobre lixo amontoado na rua ou sobre defeitos
de encanamento.
“Era um estudante”, declarou Vianello, indo direto ao ponto.
“O que foi que aconteceu?”
“Ao que parece, uma overdose. Pelo menos é o que disseram.”
“Quanto tempo faz que telefonaram?”
“Uns dez minutos.”
“Vou até aí.”
Ao sair da questura, Brunetti se surpreendeu com o calor. Por mais estranho que pudesse parecer, embora sempre soubesse o dia e quase sempre, a data, não raro precisava fazer uma pausa e lembrar se era
primavera ou outono. Assim, ao sentir o calor do dia, teve de se livrar daquela estranha desorientação antes de recordar que estava na primavera e era de se esperar o calor, que só aumentava.
Naquele dia quem estava de plantão era outro piloto, Pertile, que Brunetti achou antipático. Ele e Vianello entraram no barco com mais dois homens do setor técnico. Um deles desamarrou a corda e o barco
seguiu pelo bacino, navegando rapidamente em direção ao canal do Arsenale. Pertile ligou a sirene e o barco, veloz, percorreu as águas calmas do Arsenale, quase se chocando com um velho vaporetto que saía
da parada de Tana. “Pertile, isso não é uma evacuação nuclear”, observou Brunetti.
O piloto olhou para os homens que estavam no deque, abaixou uma das mãos que controlavam o leme e o barulho da sirene se extinguiu. Brunetti teve a impressão de que o piloto ia cada vez mais rápido com
o barco, mas achou melhor não dizer nada. Ao chegarem aos fundos do Arsenale, Pertile manobrou rapidamente à esquerda, e eles passaram pelas paradas habituais: hospital, Fundamenta Nuove, La Madonna dell’Orto,
San Alvise. Em seguida, entraram no começo do canal de Cannaregio. Assim que o barco parou, viram um policial na riva acenando para eles enquanto se aproximavam.
Vianello jogou a corda e o policial se abaixou para amarrá-la num gancho de metal. Ao ver Brunetti, o policial na riva bateu continência e estendeu a mão para ajudá-lo a sair do barco.
“Onde é que ele está?”, perguntou Brunetti assim que pôs os pés em terra firme.
“Vamos por esta calle, senhor”, disse o policial, dando as costas a Brunetti e entrando numa rua estreita que ia em direção ao interior de Cannaregio.
Os outros saíram do barco e Vianello disse a Pertile que os esperasse. Brunetti andava ao lado do policial, os demais os seguiam em fila quando entraram na calle estreita.
Não precisaram ir muito longe para encontrar, sem dificuldade, a casa certa: a uns vinte metros de distância via-se uma pequena multidão diante de uma porta vigiada por um policial uniformizado de braços
cruzados.
Enquanto Brunetti se aproximava, um homem saiu da multidão, mas não foi até os policiais. Simplesmente se separou dos outros e ficou parado, com as mãos nos quadris, olhando a polícia chegar. Era alto,
quase cadavérico, e tinha o pior nariz de bêbado que Brunetti já tinha visto: inflamado, alargado, marcado por pequenas cicatrizes e praticamente azulado na ponta. Brunetti pensou nos rostos que vira no
quadro de um mestre holandês — Cristo carregando Sua cruz? —: faces horríveis, distorcidas, pressagiando a dor e o mal para aqueles que se encontravam em seu âmbito maligno.
“Foi esse homem que o encontrou?”, Brunetti perguntou baixinho.
“Sim, senhor”, respondeu o policial que os esperava quando o barco atracou. “Ele mora no primeiro andar.”
Aproximaram-se do homem, que enfiou as mãos nos bolsos e começou a oscilar para a frente e para trás, como se tivesse um trabalho importante a executar e estivesse aborrecido com a polícia por tomar seu
tempo.
Brunetti parou diante dele. “Bom dia. Foi o senhor quem nos telefonou?”
“Sim, fui eu. Me surpreende que o senhor tenha se dado ao trabalho de vir até aqui com tamanha rapidez.” O rancor e a hostilidade em sua voz eram tão incômodos quanto o fortíssimo hálito de álcool e café.
“O senhor mora logo abaixo dele?”
“Sim, faz sete anos, e se acaso o merda do meu senhorio pensa que pode me despejar dando uma intimação, eu vou dizer a ele onde enfiar o papel.” Ele tinha o sotaque de Giudecca e, como os nascidos naquela
ilha, parecia pensar que a linguagem chula era tão essencial para a fala como o ar para a respiração.
“Ele mora aqui faz quanto tempo?”
“Não mora mais, não é mesmo?” O homem se inclinou e se entregou a uma longa gargalhada que terminou num acesso de tosse.
“Ele morou aqui por quanto tempo?”, Brunetti perguntou quando o homem parou de tossir.
O homem se endireitou e encarou Brunetti. Este, por sua vez, observou as crostas brancas que se desprendiam da pele avermelhada de seu rosto e os olhos amarelados pela icterícia.
“Ele morou aqui uns dois meses. O senhor terá de perguntar ao senhorio. Eu só via ele quando descia as escadas.”
“Alguém vinha visitá-lo?”
“Não sei”, disse o homem com súbita violência. “Não me intrometo na vida dos outros. Além do mais, ele era estudante. Não tenho nada pra falar dessa gente. Esses merdinhas pensam que sabem tudo.”
“E ele se comportava assim?”
O homem refletiu durante um momento, surpreendido por ter de examinar um caso específico para ver se ele se encaixava em seu preconceito. Acabou declarando: “Não, mas como eu disse, vi ele apenas algumas
vezes”.
“Faça o favor de dar seu nome para o sargento”, disse Brunetti, afastando-se e indicando o rapaz que acenara para o barco. Subiu os dois degraus que levavam à porta de entrada, onde o policial que a guardava
bateu continência. O sujeito que ele interrogou gritou: “O nome dele era Marco”.
Quando Vianello se aproximou, pediu-lhe para conversar com as pessoas da vizinhança e verificar se elas tinham alguma informação. O sargento se afastou, e o policial deu um passo adiante. “É no segundo
andar, senhor.”
Brunetti olhou para a escada estreita. O policial acendeu a luz, mas a lâmpada era muito fraca, como se relutasse em iluminar a sordidez geral. Tinta e cimento tinham se desprendido das paredes e se acumulavam
em pequenas dunas nos dois lados da escada de tanto serem chutados pelos moradores. Tocos de cigarro e papel amassado se espalhavam pelo chão.
Brunetti começou a subir a escada. Sentiu o cheiro no primeiro andar. Próximo, denso, penetrante, denunciava podridão, vilania e algo inumanamente sujo. Já perto do segundo andar, o cheiro ficou mais forte.
Brunetti passou por um momento terrível, durante o qual visualizou a avalanche de moléculas caindo em cima dele, agarrando-se em sua roupa, penetrando em seu nariz e em sua garganta, carregando a horrível
lembrança da mortalidade.
Um terceiro policial, que parecia muito pálido sob a luz fraca, estava na entrada do apartamento. Brunetti se incomodou com o fato de a porta estar fechada, pois isso significava que o cheiro seria muito
pior quando fosse aberta. O policial bateu continência, afastou-se rapidamente e só parou quando estava a quatro passos da porta.
“Você pode esperar lá na entrada”, disse Brunetti, consciente de que o rapaz devia ter ficado ali durante quase uma hora. “Saia para a rua.”
“Obrigado, senhor”, ele disse e voltou a bater continência, descendo precipitadamente a escada.
Brunetti ouviu de repente os passos e a algazarra da equipe técnica, que carregava suas maletas com instrumentos.
Resistiu ao impulso de respirar fundo. Em vez disso, reuniu toda sua coragem e se aproximou da porta. Antes que pudesse abri-la, um dos técnicos falou: “Commissario, pegue isso antes de entrar”. Quando
Brunetti olhou, o homem rasgava a embalagem que trazia máscaras cirúrgicas. Entregou uma delas a Brunetti e uma ao seu colega. Eles passaram os fios de elástico em torno das orelhas e puseram as máscaras
sobre a boca e o nariz. Todos se sentiram aliviados ao respirar o cheiro penetrante dos produtos químicos com que as máscaras tinham sido tratadas.
Brunetti abriu a porta e o cheiro os invadiu, atravessando as máscaras. Ele verificou que todas as janelas estavam abertas, provavelmente pela polícia, e que a cena do crime estava contaminada em certo
sentido. Havia, entretanto, pouca necessidade de proteger aquela cena. O próprio Cérbero teria fugido daquele cheiro, uivando.
Brunetti ficou rígido, sem nenhuma vontade de ir adiante, mas entrou e a equipe o seguiu. A sala de estar era o que se esperava encontrar no apartamento de um estudante. Ela lembrava a Brunetti o jeito
como seus amigos moravam, quando estava na universidade. Um pano indiano, colorido, comprido, se estendia sobre o sofá um tanto maltratado, cobria as almofadas e os braços, como se fosse um revestimento.
Uma mesa comprida estava encostada na parede, coberta de papéis, livros e uma laranja, que começava a embolorar. Livros e roupas se amontoavam em duas cadeiras.
O corpo do rapaz estava no chão da cozinha, deitado de costas. No braço esquerdo, esticado atrás da cabeça, via-se a agulha que o matara, ainda enfiada na veia, pouco abaixo do cotovelo. A mão direita
se encurvava no alto da cabeça e Brunetti reconheceu o gesto que seu filho esboçava ao perceber que tinha cometido um erro ou feito uma tolice. Havia, em cima da mesa, aquilo que era de se esperar: uma
colher, uma vela e um pequeno envelope com a substância que matara o rapaz. Brunetti desviou o olhar. A janela aberta da cozinha dava para outra janela, com persiana e fechada.
Um dos técnicos se aproximou e olhou para o corpo do rapaz. “Devo cobri-lo?”
“Não. É melhor deixá-lo como está até o médico examiná-lo. Quem virá?”
“Guerriero, senhor.”
“Não é o Rizzardi?”
“Não, senhor. Quem está de plantão hoje é Guerriero.”
Brunetti fez um gesto de concordância e voltou para a sala de estar. O elástico da máscara começava a incomodá-lo e ele a tirou e guardou no bolso. O cheiro piorou durante algum tempo e em seguida atenuou-se.
O segundo homem da equipe foi até a cozinha, levando uma máquina fotográfica e um tripé. Brunetti ouviu o som abafado das vozes dos técnicos, enquanto eles avaliavam o melhor modo de registrar aquela cena
para a modesta contribuição de Marco, estudante universitário, morto com uma agulha enfiada no braço, para os arquivos policiais de Veneza, a pérola do Adriático. Brunetti se aproximou da mesa do rapaz
e ficou parado, olhando a mixórdia de papéis e livros, tão parecida à que ele criara em sua própria mesa, quando era estudante, tão parecida àquela que seu filho deixava para trás cada manhã, antes de
ir para a escola.
Brunetti encontrou o nome do rapaz na página de rosto de um livro sobre a história da arquitetura: Marco Landi. Folheou lentamente a papelada que estava sobre a mesa, parando de vez em quando para ler
um parágrafo ou uma sentença. Descobriu que Marco vinha trabalhando numa tese sobre os jardins de quatro villas do século XVIII, situadas entre Veneza e Pádua. Encontrou livros e fotocópias de livros sobre
paisagismo e até mesmo alguns esboços de jardins que pareciam ter sido desenhados pelo rapaz. Observou, durante bom tempo, um desenho de grande formato de um elaborado jardim, no qual cada planta e árvore
haviam sido desenhadas com detalhes exatos. Conseguiu até mesmo ler as horas num enorme relógio de sol, desenhado à esquerda de uma fonte: quatro horas e quinze minutos. Na parte inferior da página, do
lado direito do desenho, notou dois coelhos atrás de um pé de oleandro, com uma expressão de curiosidade no olhar. Ambos pareciam contentes e bem alimentados. Brunetti pôs o desenho de lado e pegou outro,
aparentemente relativo a um projeto diferente, pois mostrava uma casa de estilo moderno, austero, debruçada num espaço aberto, que poderia ser um cânion ou um rochedo. Estudou o desenho, voltou a notar
os coelhos, dessa vez com ar zombeteiro, atrás do que parecia ser uma escultura moderna no gramado em frente da casa. Em seguida ele folheou mais desenhos de Marco. Em cada um deles os coelhos apareciam
e algumas vezes era quase impossível localizá-los, de tão engenhosamente escondidos: na janela de um prédio de apartamentos ou olhando através do para-brisa de um carro estacionado em frente de uma casa.
Brunetti imaginou como os professores de Marco teriam acolhido a presença dos coelhos em cada desenho que ele apresentou. Teriam se divertido ou ficado incomodados? Ficou pensando no rapaz que introduziu
os coelhos em cada desenho. Por que coelhos? E por que dois?
Sua atenção foi desviada dos desenhos para uma carta manuscrita, à esquerda deles. Não havia nem nome nem endereço do remetente e a estampilha se referia a um lugar na província de Trento. A estampilha
estava borrada, o que tornava ilegível o nome da cidade. Brunetti deu uma rápida olhada na carta, notando que era assinada por “Mamma”.
Desviou o olhar durante um momento antes de começar a ler a carta. Ela continha as habituais notícias da família: Papà ocupado com a lavoura da primavera; Maria, que Brunetti inferiu ser a irmã caçula
de Marco, ia bem na escola. Briciola correu mais uma vez atrás do carteiro; ela mesma estava bem e esperava que Marco se aplicasse nos estudos e não enfrentasse mais nenhum problema. Não, signora, seu
Marco nunca mais terá quaisquer problemas, mas tudo o que vocês terão agora, e pelo resto de suas vidas, é a perda, a dor e o terrível sentimento de que de alguma forma vocês falharam em relação a ele.
Por mais profunda que seja sua consciência de que não foram responsáveis por isso, a certeza de que foram, sim, será sempre mais profunda e absoluta.
Em seguida Brunetti examinou rapidamente os outros papéis que estavam na mesa. Havia mais cartas da mãe do rapaz, mas ele não leu. Finalmente na gaveta superior, do lado esquerdo da mesa, encontrou uma
caderneta de endereços, em que localizou o endereço e o número do telefone dos pais de Marco. Guardou a pequena caderneta no bolso do paletó.
O barulho da porta o fez se virar e ver Gianpaolo Guerriero, o assistente de Rizzardi. Para Brunetti, a ambição de Guerriero estava evidente no jovem rosto magro e na rapidez de cada gesto. Ou talvez fosse
só por saber que Guerriero era ambicioso que via essa característica — Brunetti não se convencia a falar em virtude — em tudo o que o rapaz fazia. Queria gostar de Guerriero porque já constatara como ele
era respeitoso com os mortos, mas havia uma sinceridade desprovida de humor naquele homem que desencorajava qualquer sentimento mais forte do que o respeito. A exemplo de seu superior, ele se vestia com
apuro e naquele dia trajava um terno de lã cinza, que complementava sua elegante aparência. Atrás dele entraram dois atendentes do necrotério vestidos de branco. Brunetti fez um gesto na direção da cozinha
e eles foram para lá, carregando a maca.
“Não toquem em nada”, disse Guerriero sem a menor necessidade. Estendeu a mão para Brunetti.
“Contaram-me que foi uma overdose”, disse Guerriero.
“É o que parece.” Não vinha nenhum som da cozinha.
Guerriero foi até lá, carregando uma pequena valise na qual Brunetti não pôde deixar de notar a logomarca da Prada.
Ele permaneceu na sala de estar e, enquanto aguardava Guerriero terminar, se apoiou na mesa com as mãos espalmadas e examinou novamente os desenhos de Marco. Sentia vontade de rir dos coelhos, mas não
conseguia.
Guerriero voltou para a sala dentro de alguns minutos. Parou na porta e removeu a máscara cirúrgica. “Se foi heroína — e acho que foi — o efeito foi instantâneo. O senhor o viu. Ele sequer teve tempo de
tirar a agulha do braço.”
“Que efeito isso provocaria nele? E por que haveria de provocar, se ele era viciado?”
Guerriero refletiu e respondeu: “Se foi heroína, qualquer espécie de droga barata pode ter sido misturada com ela. Alguém pode ter feito isso. Ou então ele ficou sem se drogar durante algum tempo, nesse
caso pode ter havido uma reação excessiva a uma dosagem que não lhe faria mal enquanto recorria à droga com regularidade. Quero dizer: se ele estava usando uma heroína particularmente pura”.
“Qual é sua opinião?”, perguntou Brunetti e, ao constatar que Guerriero começava a dar uma resposta automática e sem dúvida cautelosa, ele levantou a mão e acrescentou: “Extraoficialmente, claro”.
Guerriero pensou bastante antes de se manifestar, e Brunetti não conseguiu descartar a ideia de que o jovem médico pesava as consequências profissionais de ser flagrado emitindo um parecer não oficial.
Por fim, disse: “Creio que a segunda hipótese é a mais provável”.
Brunetti ficou impassível, esperando que ele continuasse.
“Não examinei o corpo todo, apenas os braços, mas não há marcas recentes, embora haja muitas marcas antigas. Se ele estivesse usando heroína, injetaria a droga nos braços. Os viciados tendem a aplicá-la
no mesmo local. Eu diria que ele ficou uns meses longe das drogas.”
“Mas depois voltou a usar heroína?”
“Sim, ao que parece. Terei condições de dar mais informações ao senhor após examiná-lo melhor.”
“Obrigado, dottore. Eles o levarão agora?”
“Sim. Recomendei que o ponham num saco. Com as janelas abertas em breve o cheiro vai melhorar.”
“Ótimo. Grato. Quando poderá realizar a autópsia?”
“Muito provavelmente amanhã de manhã. No momento as coisas andam devagar lá no hospital. É estranho, bem pouca gente morre na primavera.”
“Deixei a carteira dele e tudo o que estava nos bolsos em cima da mesa da cozinha”, continuou Guerriero, abrindo sua pasta e pondo a máscara cirúrgica dentro dela.
“Obrigado mais uma vez. Telefone-me, por favor, assim que chegar a uma conclusão.”
“Claro”, respondeu Guerriero, antes de apertar a mão de Brunetti e se retirar do apartamento.
Durante aquele breve diálogo, Brunetti percebera sons que vinham da cozinha. Assim que Guerriero partiu, dois atendentes surgiram, carregando a maca com sua carga enfiada em um saco. Brunetti se esforçou
para não pensar como eles desceriam através dos estreitos degraus do prédio. Os atendentes fizeram uma breve saudação, mas não pararam.
O barulho diminuía, enquanto eles desciam a escada, e Brunetti voltou para a cozinha.
O mais alto dos dois técnicos — Brunetti achava que ele se chamava Santini, mas não tinha certeza — declarou: “Aqui na cozinha não tem nada, senhor”.
“Você verificou os papéis dele?”, Brunetti perguntou, indicando a carteira e uma pequena pilha de moedas e de papéis amarrotados em cima da mesa.
O colega de Santini respondeu por ele. “Não, senhor. Achamos que o senhor ia querer fazer isso.”
“Esse apartamento tem quantos cômodos mais?”
Santini apontou para os fundos do imóvel. “Apenas o banheiro. Ele devia dormir no sofá da sala.”
“Acharam alguma coisa no banheiro?”
Santini deixou o colega responder. “Não havia agulhas lá, nenhum sinal delas, apenas aquilo que se espera encontrar num banheiro: aspirina, creme de barbear, escova de dentes, uma caixa com giletes, mas
nada de drogas.”
Como Brunetti achou interessante que o técnico fizesse tal comentário, perguntou: “E a que conclusão você acha que dá para chegar?”.
“Eu até poderia dizer que o rapaz não tinha nada com drogas”, ele respondeu sem hesitar. Brunetti olhou para Santini, que concordou com o colega. Ele prosseguiu: “Examinamos muitos rapazes como ele e a
maioria se encontrava num estado lastimável, com ferimentos no corpo todo e não somente nos braços”. Ergueu a mão, movendo-a para a frente e para trás, como se quisesse repelir a lembrança dos jovens corpos
que vira, inertes na morte trazida pela droga. “Este rapaz, porém, não tinha nenhum outro ferimento recente.” Todos se mantiveram em silêncio durante algum tempo.
Santini perguntou finalmente: “Algo mais que o senhor gostaria que fizéssemos?”.
“Não, creio que não.” Notou que os dois não usavam mais suas máscaras e que o cheiro diminuíra, até mesmo na cozinha onde o corpo do rapaz estivera não se sabia por quanto tempo. “Vão tomar um café. Vou
dar uma olhada em tudo isso”, ele disse, indicando a carteira e os papéis. “Em seguida fecho tudo e desço.”
Ambos não objetaram. Assim que eles se retiraram, Brunetti pegou a carteira e soprou nela para remover um pouco da poeira cinza. Ela continha cinquenta e sete mil liras. Havia mais duas mil e setecentas
liras em moedas sobre a mesa, onde alguém as pusera, após tirá-las dos bolsos de Marco. Ele encontrou dentro da carteira a Carta d’identità de Marco, em que havia a data de seu nascimento. Com um movimento
súbito, Brunetti pegou todo o dinheiro e os papéis que estavam em cima da mesa e os enfiou no bolso do paletó. Tinha visto um molho de chaves sobre uma mesinha, bem ao lado da porta. Verificou se todas
as persianas estavam em ordem, abaixou-as e fechou as janelas do apartamento. Trancou a porta e desceu.
Lá fora Vianello estava parado ao lado de um velho, inclinando-se para ouvir o que quer que ele tivesse a dizer. Ao ver Brunetti saindo do prédio, deu um tapinha no braço do velho e se afastou dele. Assim
que Brunetti se aproximou, Vianello sacudiu a cabeça. “Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada.”
13.
Na companhia de Vianello e dos homens da equipe técnica, Brunetti voltou para a questura no barco da polícia, sentindo-se aliviado porque, ele esperava, iriam levar para longe o mau cheiro que impregnava
tudo. Nenhum deles mencionou o fato, mas Brunetti sabia que não se sentiria totalmente limpo enquanto não tirasse toda a roupa e ficasse durante muito tempo debaixo da água purificadora de um chuveiro.
Mesmo no calor galopante daquele dia de fim de primavera, ele ansiava por água quente e vaporosa e pela fricção de uma toalha felpuda em cada centímetro do corpo.
Os técnicos levaram para a questura os indícios da morte de Marco, e ainda que fossem poucas as chances de conseguir um segundo conjunto de impressões digitais na seringa que o matou, havia alguma esperança
de que o saco de plástico que ele deixara sobre a mesa da cozinha lhes proporcionaria algo, até mesmo um fragmento a ser comparado com as impressões arquivadas.
Quando chegaram à questura, o piloto atracou o barco com excessiva rapidez e todos os passageiros perderam o equilíbrio. Um dos técnicos agarrou o ombro de Brunetti para não rolar pelos degraus e cair
na cabine. O piloto desligou o motor e pulou do barco, pegou a extremidade da corda com que o ancoraria e se manteve ocupado com os nós. Brunetti, silencioso, foi o primeiro a saltar do barco, indo em
direção à questura.
Foi diretamente ao pequeno escritório da signorina Elettra. Ela estava conversando com alguém no telefone e ao vê-lo levantou a mão, para que ele esperasse. Brunetti entrou lentamente, com medo de ainda
estar impregnado daquele cheiro terrível que tomava conta de sua imaginação, quando não de suas roupas. Notou que a janela estava aberta e se aproximou dela, ali ficando, ao lado de um grande vaso com
lírios cuja doçura pegajosa enchia o ar de um cheiro enjoativo que ele sempre detestara.
Ao perceber a inquietação de Brunetti, a signorina Elettra afastou o fone do ouvido e fez um gesto com a outra mão, como se quisesse mostrar sua impaciência com a pessoa com quem falava. Voltou a aproximar
o fone e murmurou “Sì” algumas vezes, controlando sua crescente irritação. Um minuto depois, ela voltou a afastar o aparelho, que colou de volta no ouvido logo em seguida, para agradecer, se despedir e
desligar.
“Tudo isso para me dizer por que ele não pode vir hoje à noite”, ela explicou. Não era muita coisa, mas o suficiente para levar Brunetti a se perguntar o quê e onde. E quem. Não disse nada.
“E como foi lá?”, ela perguntou.
“Mal. O rapaz tinha vinte anos e ninguém soube dizer há quanto tempo ele morava lá.”
“E com esse calor…”, disse a signorina, querendo demonstrar solidariedade.
“Foi droga. Uma overdose.”
Ela não fez nenhum comentário, mas fechou os olhos e disse em seguida: “Tenho conversado sobre drogas com algumas pessoas conhecidas, mas todas dizem a mesma coisa, que Veneza é um mercado muito pequeno”.
Ela fez uma pausa e acrescentou: “Mas deve ser grande o suficiente para alguém ter vendido ao menino aquilo que o matou”. Brunetti estranhou que ela se referisse a Marco como um “menino”, pois a diferença
de idade entre a signorina e o rapaz não seria superior a uns dez anos.
“Preciso telefonar para os pais dele”, disse Brunetti.
Ela consultou o relógio e Brunetti também. Surpreendeu-se ao constatar que era apenas uma e dez. A morte tornava o tempo real desprovido de sentido. Estava com a sensação de ter passado muitos dias naquele
apartamento.
“Por que o senhor não espera um pouquinho?” Antes que ele pudesse responder ela explicou: “Assim, quem sabe o pai dele vai estar em casa e eles acabaram de almoçar. Vai ser melhor o pai e a mãe estarem
juntos quando o senhor comunicar o que aconteceu”.
“Sim. Não tinha pensado nisso. Vou esperar.” Ele não tinha a menor ideia do que faria para preencher o tempo de espera.
A signorina Elettra tocou em algo no seu computador. Ouviu-se um zumbido e a tela apagou. “Vou parar por agora e tomar un’ombra antes do almoço. O senhor não quer me acompanhar?” Ela sorriu diante do próprio
atrevimento: um homem casado, ainda por cima seu chefe, e ela o convidava para tomar um drinque.
Brunetti, comovido com sua gentileza, disse: “Sim, gostaria muito, signorina”.
Ele telefonou pouco depois das duas. Uma mulher atendeu e ele pediu para falar com o signor Landi. Fez mudos agradecimentos para ninguém em particular quando ela não demonstrou a menor curiosidade e disse
que iria chamar o marido.
“Quem fala é Landi”, uma voz gutural soou do outro lado.
“Signor Landi, sou o commissario Guido Brunetti. Estou telefonando da questura de Veneza.”
Antes que ele pudesse prosseguir, Landi interrompeu-o, com uma voz mais tensa e mais alta. “É a respeito de Marco?”
“Sim, signor Landi, é sim.”
“Em que estado ele se encontra?”, perguntou Landi, com uma voz um pouco mais suave.
“Sinto muito, mas a situação não poderia ser pior, signor Landi.”
Fez-se o mais absoluto silêncio. Brunetti imaginou o pai de Marco com um jornal na mão, olhando para a cozinha, onde sua esposa lavava a louça após a última refeição tranquila de sua vida.
A voz de Landi se tornou quase inaudível, mas havia somente uma coisa que ele poderia perguntar, de modo que Brunetti supriu por conta própria as palavras que não lhe chegaram. “Ele morreu?”
“Sinto muito dizer-lhe: sim.”
Houve outra pausa, ainda mais prolongada, e então Landi perguntou: “Quando?”.
“Nós o encontramos hoje.”
“Quem o encontrou?”
“A polícia. Um vizinho telefonou.” Brunetti não tinha sangue frio suficiente para entrar em detalhes ou falar sobre o tempo decorrido desde a morte de Marco. “O vizinho disse que fazia tempo que não via
Marco e pediu que fôssemos ver o que estava acontecendo. Nós o achamos assim que entramos no apartamento dele.”
“Foi droga?”
A autópsia não tinha sido realizada. Os procedimentos oficiais ainda não tinham estudado as evidências que cercavam a morte do rapaz, não tinham examinado e considerado os fatos a fim de emitir um juízo
sobre a causa da morte. Assim sendo, um policial que externasse sua opinião sobre o acontecido seria considerado irresponsável e precipitado a ponto de merecer uma reprimenda oficial. “Foi droga, sim”,
disse Brunetti.
O homem do outro lado da linha estava chorando. Brunetti ouviu sua voz entrecortada enquanto ele se entregava à dor e respirava fundo, em busca do ar que lhe faltava. Passou-se um minuto. Brunetti afastou
o telefone e olhou para a esquerda, onde uma placa na parede continha os nomes de todos os policiais que morreram na Primeira Grande Guerra. Começou a ler os nomes, as datas de nascimento e morte. Um deles
tinha apenas vinte anos, a mesma idade de Marco.
De repente ele ouviu, no telefone, o som abafado de uma voz mais fina, provocada pela curiosidade ou pelo temor, mas Landi cobriu o aparelho com a mão. Passou-se mais um minuto e então Brunetti pôde ouvir
a voz de Landi. Aproximou o telefone do ouvido, mas tudo o que ouviu foi: “Dentro de instantes eu telefono para o senhor”. Logo depois a ligação caiu.
Enquanto aguardava, Brunetti refletiu sobre a natureza daquele crime. Se Guerriero estivesse certo e Marco tinha morrido porque seu corpo tinha se desabituado ao terrível choque provocado pela heroína,
então que outro crime foi cometido que não a venda de uma substância proibida? E que espécie de crime era aquele, vender heroína para um viciado, e que juiz julgaria o acontecido como algo mais do que
um caso de contravenção? Se, em lugar disso, a heroína que matou Marco tinha sido misturada com algo perigoso ou letal, como determinar onde, ao longo da trilha que se estendia das plantações de papoula
do Oriente até as veias do Ocidente, aquela substância tinha sido adicionada e por quem?
Por mais que refletisse, Brunetti não via como um crime daqueles poderia ter sérias consequências legais. Parecia bem pouco provável que a identidade da pessoa responsável fosse descoberta. E, no entanto,
o jovem estudante que desenhava os excêntricos coelhos e os escondia engenhosamente em diferentes lugares, em cada um de seus desenhos, nem por isso estava menos morto.
Brunetti se levantou e foi até a janela. O sol castigava o campo San Lorenzo. Todos os homens que moravam na casa de repouso para idosos tinham atendido a convocação para a sesta, deixando o campo para
os gatos e para as pessoas que o atravessavam àquela hora. Brunetti se inclinou, apoiou as mãos no parapeito e contemplou o campo, como se estivesse buscando um presságio. Daí a meia hora Landi telefonou
para dizer que ele e sua esposa estariam em Veneza naquele mesmo dia, às sete da noite, e perguntar como fariam para chegar até a questura.
Quando Landi respondeu que, sim, eles viriam de trem, Brunetti concluiu que o melhor seria ir até a estação e depois seguir com os pais do rapaz de barco até o hospital.
“Hospital?”, perguntou Landi, com uma esperança desesperada na voz.
“Sinto muito, signor Landi. É para onde eles são levados.”
“Ah”, foi a única resposta de Landi, que desligou em seguida.
Brunetti telefonou naquela mesma tarde para um amigo proprietário de um hotel no campo Santa Marina e perguntou se ele tinha um apartamento disponível para um casal passar a noite. Sabia que as pessoas
convocadas por um desastre se esqueciam de coisas comezinhas, tais como comer, dormir e todos aqueles detalhes incômodos que mostravam que a vida continuava.
Solicitou a Vianello que o acompanhasse e disse a si mesmo que seria mais fácil para os Landi reconhecer a polícia se alguém uniformizado estivesse à espera do trem. Parte dele sabia que Vianello era a
melhor pessoa com quem poderia contar no que se referia a ele e aos Landi.
O trem chegou no horário e foi fácil localizar os pais de Marco assim que eles desceram. Ela era uma mulher alta, magra, e trajava um vestido cinza, todo amarrotado depois da viagem. Seus cabelos estavam
presos num coque fora de moda. O marido segurava o braço dela e qualquer pessoa que os visse poderia perceber que não se tratava de um gesto de cortesia ou de hábito: ela andava sem muito equilíbrio, como
se estivesse bêbada ou doente. Landi era baixo, musculoso, sua postura rígida revelava toda uma vida dedicada ao trabalho, a um árduo trabalho. Em outras circunstâncias Brunetti poderia achar cômico o
contraste do casal, mas não naquele momento. O rosto de Landi era queimado de sol. Seus cabelos brancos pouco protegiam a adiantada calvície e o couro cabeludo tinha a mesma cor do rosto. Ele tinha a aparência
de um homem que passava todos os dias ao ar livre e Brunetti recordou a carta da mãe de Marco, na qual ela se referia à lavoura durante a primavera.
Eles viram o uniforme de Vianello, e Landi levou a esposa até o policial. Brunetti se apresentou ao sargento, explicou que um barco os esperava. Apenas Landi trocou um aperto de mãos, somente ele era capaz
de falar. Sua esposa nada fez, além de um breve aceno, e enxugou os olhos com a mão esquerda.
Eles chegaram rapidamente ao hospital. Brunetti sugeriu que o signor Landi identificasse Marco sozinho, mas ambos insistiram em ir até o local onde seu filho se encontrava. Brunetti e Vianello esperaram
do lado de fora, sem trocar palavra. Daí a alguns minutos, os Landi voltaram sem disfarçar os soluços. Os procedimentos exigiam que se realizasse uma identificação formal, que a pessoa responsável por
ela a fizesse verbalmente ou por escrito para o funcionário que a acompanhasse.
Assim que eles se acalmaram um pouco, a única coisa que Brunetti disse foi: “Tomei a liberdade de reservar um apartamento para os senhores passarem a noite, caso prefiram ficar em Veneza”.
Landi se voltou para a esposa, mas ela sacudiu a cabeça.
“Não. Acho melhor regressarmos. Há um trem às oito e meia. Verificamos antes de vir.”
Ele tinha razão. Brunetti sabia que seria melhor assim. A autópsia se realizaria no dia seguinte e qualquer pai ou mãe merecia ser poupado dos detalhes. Ele os conduziu até a entrada de emergência do hospital
e de volta ao barco da polícia, que estava ancorado. Bonsuan observou-os se aproximando e desatracou o barco antes mesmo que eles chegassem. Vianello segurou o braço da signora Landi e ajudou-a a entrar
no barco e descer para a cabine. Brunetti segurou o braço de Landi enquanto entraram no barco, porém fez uma ligeira pressão, impedindo-o de seguir para a cabine junto com a esposa.
Com a naturalidade de quem respira, Bonsuan se afastou suavemente da doca, com pouca velocidade, de tal modo que a passagem deles foi quase silenciosa. Landi manteve os olhos baixos, fixando as águas,
sem se dispor a contemplar a cidade que havia tirado a vida de seu filho.
“O senhor pode me falar algo a respeito do Marco?”, pediu Brunetti.
“O que o senhor quer saber?”, respondeu Landi, ainda de olhos baixos.
“O senhor tinha conhecimento das drogas?”
“Sim.”
“E ele tinha parado?”
“Achei que sim. No fim do ano passado ele esteve lá em casa. Disse que tinha parado e queria passar um tempo com a gente antes de voltar para cá. Estava saudável e naquele inverno trabalhou para valer.
Nós dois pusemos um telhado novo no estábulo. Não é possível alguém fazer esse tipo de trabalho se estiver consumindo drogas ou se o corpo estiver debilitado por causa delas.” Landi manteve os olhos fixos
nas águas enquanto o barco deslizava.
“Ele nunca comentou nada?”
“Sobre as drogas?”
“Sim.”
“Só uma vez. Ele sabia que eu não aguento esse assunto.”
“Ele não lhe contou por que se drogava ou onde conseguia a droga?”
Landi encarou Brunetti. Seus olhos eram azuis como o céu, ele não tinha a menor ruga, embora a pele fosse ressecada, devido à exposição ao sol e ao vento. “Quem consegue entender por que esses meninos
fazem isso com o próprio corpo?” Ele sacudiu a cabeça e, mais uma vez, desviou o olhar para as águas.
Brunetti dominou o impulso de se desculpar pelas perguntas. “O senhor tinha conhecimento da vida que ele levava aqui? Sabia se ele tinha amigos? O que ele fazia?”
Landi respondeu a uma outra pergunta. “Ele sempre quis ser arquiteto. Desde criança somente se interessava por edificações, construção. Não entendo disso, sou apenas um camponês. A agricultura é a única
coisa que domino.” Quando o barco se aproximava das águas da laguna, uma onda se chocou contra ele, mas Landi manteve o equilíbrio, como se nada tivesse acontecido. “Não há mais futuro na terra, não se
pode mais viver dela. Todos nós sabemos, mas não sabemos o que mais podemos fazer”, ele disse, suspirando.
Sem levantar o olhar, ele prosseguiu. “Marco veio para cá para estudar. Isso faz dois anos. Quando foi lá para casa, no fim do primeiro ano, percebemos que alguma coisa estava errada, mas não tínhamos
a menor ideia do que se tratava.” Landi encarou Brunetti. “Somos pessoas simples, não sabemos nada dessas histórias de drogas.” Ele desviou o olhar, reparou nas edificações à beira da laguna e, mais uma
vez, ficou olhando para as águas.
O vento aumentou e Brunetti teve de se inclinar para ouvir o que ele dizia. “Ele voltou no Natal do ano passado e estava muito perturbado. Tivemos uma conversa e ele me contou. Disse que tinha parado,
que não queria mais saber daquilo, senão ia acabar morrendo.” Brunetti mudou de posição e observou que as mãos calosas de Landi seguravam com força a borda do barco.
“Ele não conseguiu explicar por que fazia aquilo ou como a coisa era, mas sei que ele foi sincero quando disse que não queria mais saber daquilo. Não contamos nada para minha mulher.”
Brunetti perguntou finalmente: “O que foi que aconteceu?”.
“Ele ficou lá em casa o resto do inverno e a gente trabalhou junto no estábulo. É por isso que eu sei que ele estava bem. Então, faz dois meses, ele me falou que queria voltar a estudar, que não tinha
mais nenhum perigo. Acreditei nele. Então ele voltou para Veneza e tudo parecia indicar que as coisas estavam indo bem. Até que o senhor telefonou.”
O barco, oscilante, saiu do Canale di Cannaregio e entrou no Grande Canal. Brunetti perguntou: “Alguma vez ele falou de amigos? De namorada?”.
A pergunta pareceu perturbar Landi. “Ele tem uma namorada lá onde a gente mora.” Ele fez uma pausa, pois era óbvio que não tinha concluído a resposta. “Acho que ele tinha alguém aqui. O Marco telefonou
três ou quatro vezes para cá durante o inverno e uma garota telefonou algumas vezes, pedindo para falar com ele. O Marco, porém, nunca nos disse nada.”
O piloto deu marcha a ré durante um segundo e o barco deslizou, parando em frente da estação. Bonsuan desligou o motor e saiu da cabine. Em silêncio, amarrou a corda numa estaca, saiu do barco e empurrou-o,
para que ele ficasse em paralelo com o atracadouro. Landi e Brunetti se voltaram e o primeiro ajudou a esposa a subir o último degrau da escadinha que levava à cabine. Segurando seu braço, ajudou-a a sair
do barco.
Brunetti pediu as passagens e repassou-as a Vianello, que foi rapidamente até a bilheteria para o carimbo de praxe e para saber qual era a plataforma. Quando eles chegaram ao fim da escada Vianello estava
de volta. Conduziu-os até a plataforma 5, onde o trem para Verona estava à espera. Eles caminharam em silêncio até que Vianello, que espiava pelas janelas do trem, localizou uma cabine vazia. Foi até a
porta do primeiro vagão, pôs-se de lado e ofereceu o braço à signora Landi. Ela o aceitou e subiu no trem, exausta. Landi a seguiu, virou e estendeu a mão, primeiro para Vianello, depois para Brunetti.
Acenou uma vez, porém nada mais tinha a dizer. Deu-lhes as costas e seguiu a esposa pelo corredor, em direção à cabine vazia.
Brunetti e Vianello ficaram à espera até o ajudante do condutor apitar e agitar no ar um pano verde, antes de subir no trem, que começava a andar. A porta se fechou automaticamente e o trem se pôs a caminho,
em direção à ponte e ao mundo que se estendia para além de Veneza. Quando o vagão passou lentamente por eles, Brunetti viu os Landi sentados bem juntos, o braço dele em torno do ombro dela. Ambos encaravam
fixamente o banco da frente e não se voltaram para olhar pela janela, enquanto o trem deixava para trás os dois policiais.
14.
Num telefone público em frente da estação, surpreso por se lembrar de fazer aquilo, Brunetti ligou e cancelou a reserva no hotel. Depois disso a única coisa que teve o ânimo de fazer foi ir para casa.
Ele e Vianello tomaram a barca 82, mas tinham pouco a conversar, enquanto seguiam em direção ao Rialto. Despediram-se com muita contenção e Brunetti arrastou seu mal-estar pela ponte, pelo mercado já fechado,
por todo o caminho que o levaria para casa. Até mesmo a explosão de orquídeas na vitrine da Biancat de nada adiantou para elevar seu ânimo e nem mesmo o cheiro de uma comida que parecia ser saborosa, vindo
do segundo andar, o entusiasmou.
Os cheiros eram ainda mais convidativos em seu apartamento. Alguém tinha tomado banho e usado um xampu que recendia a alecrim, comprado recentemente por Paola. Ela havia preparado salsichas e pimentões,
mas Brunetti torcia para que Paola tivesse se dado o trabalho de cozinhar alguma massa para acompanhar.
Tirou o paletó e guardou-o no armário embutido. Assim que entrou na cozinha, Chiara, concentrada em fazer algo que parecia ser uma espécie de projeto de geografia — a mesa estava coberta de mapas, uma
régua e uma calculadora — levantou-se correndo e abraçou o pai. Ele pensou no cheiro do apartamento de Marco, mas se esforçou para não se afastar dela.
“Papà”, ela disse, antes mesmo que ele tivesse tempo de beijá-la. “Posso ter aulas de iatismo nesse verão?”
Brunetti olhou em volta — em vão — procurando por Paola, quer dizer, por alguma explicação.
“Aulas de iatismo?”
“Sim, Papà”, ela respondeu, sorrindo. “Tenho um livro e estou tentando aprender iatismo por conta própria, mas acho que vou precisar de alguém que me ensine qual é o jeito certo.” Chiara pegou a mão dele
e levou-o até a mesa da cozinha, coberta com mapas de todo tipo, mas só de baixios e litorais, onde países e continentes beijavam as águas.
Chiara se afastou e se debruçou sobre a mesa, olhando para um livro aberto debaixo do peso de outro livro. “Veja só, Papà”, ela disse, percorrendo com o dedo uma lista. “Se o tempo não estiver nublado
e se eles tiverem bons mapas e um cronômetro, vão saber direitinho onde estão, seja onde for.”
“Eles quem, meu anjo?”, Brunetti perguntou, abrindo a geladeira e tirando uma garrafa de Tokai.
“O capitão Aubrey e a tripulação dele”, ela disse, numa voz que dava a entender que a resposta era óbvia.
“E quem é o capitão Aubrey?”
“É o capitão do Surprise”, disse Chiara, encarando o pai como se ele tivesse admitido desconhecer seu próprio endereço.
“Surprise?”, ele perguntou, ainda mergulhado nas trevas.
“Está nos livros, Papà, aqueles que falam da guerra contra os franceses.” Antes que Brunetti pudesse admitir sua ignorância, Chiara acrescentou: “Esses franceses arrasam, não é mesmo?”.
Brunetti, que no fundo concordava, não disse nada, pois ainda não tinha a menor ideia sobre o que eles estavam falando. Encheu um copo de vinho, tomou um bom gole e mais outro. Voltou a dar uma olhada
nos mapas e notou que as partes azuis continham muitos veleiros, porém antiquados, encimados por nuvens enfunadas de velas brancas. Havia em alguns deles o que lhe pareceu figuras de tritões, que se erguiam
das águas com conchas na boca.
Então ele se rendeu. “De quais livros você está falando, Chiara?”
“Dos que Mamma me deu, em inglês, sobre o capitão da Marinha inglesa, o amigo dele e a guerra contra Napoleão.”
Ah, aqueles livros… Brunetti tomou mais um gole de vinho. “E você gosta deles tanto quanto a Mamma?”
“Oh”, disse Chiara olhando para ele com expressão séria. “Acho que não existe ninguém que goste tanto deles quanto ela.”
Fazia quatro anos que Brunetti tinha sido abandonado durante mais de um mês por sua companheira de quase vinte anos. O caso é que ela tinha se posto a ler sistematicamente, segundo os cálculos dele, dezoito
romances marítimos sobre os intermináveis anos de guerra entre ingleses e franceses. Intermináveis foram também aqueles meses, em que ele engolia refeições feitas às pressas, carne mal cozida, pão seco
e não raro apelava para uns drinques a mais. Como Paola parecia só se interessar por aquilo, ele deu uma olhada num dos livros, mais para ter assunto durante aquelas refeições improvisadas. Achou-o, porém,
discursivo, cheio de fatos estranhos e de animais ainda mais estranhos, e desistiu da tentativa após poucas páginas, antes de ter a chance de saber da existência do capitão Aubrey. Felizmente Paola lia
com rapidez e voltou ao século XX após terminar o século anterior, aparentemente a salvo do escorbuto, dos naufrágios e das batalhas que a tinham ameaçado durante aquelas semanas.
Estavam explicados os mapas. “Terei de conversar com sua mãe sobre isso”, ele disse.
“Sobre o quê?”, perguntou Chiara, voltando a se debruçar sobre os mapas, manipulando a calculadora com a mão esquerda. Brunetti achou que se o capitão Aubrey visse aquilo poderia sentir inveja dela.
“Sobre as aulas de iatismo.”
“Ah, yes”, disse Chiara, mudando para o inglês com toda a naturalidade. “I long to sail a ship.”
Brunetti deixou-a entretida com o livro, voltou a encher seu copo, encheu outro e foi até o escritório de Paola. Encontrou a porta aberta e a mulher estendida no sofá. Via-se somente sua testa, acima de
um livro.
“Suponho que seja o capitão Aubrey”, ele disse em inglês.
Paola pôs o livro de lado e sorriu. Sem nada dizer, pegou o copo que ele lhe oferecia. Tomou um gole e encolheu as pernas, para que ele se sentasse, e perguntou: “O dia foi ruim?”.
Ele suspirou, encostou-se no sofá e pôs a mão direita nos tornozelos dela. “Foi overdose. Ele tinha apenas vinte anos e estudava arquitetura na universidade.”
Nenhum dos dois falou durante muito tempo e então Paola disse: “Que sorte que a gente teve de nascer em outra época”.
Brunetti lançou um rápido olhar e ela prosseguiu: “A gente nasceu antes das drogas. Bem, antes de todo mundo começar a usar drogas”. Paola tomou um gole de vinho e declarou: “Acho que na minha vida inteira
só fumei maconha duas vezes. Graças a Deus para mim não teve efeito nenhum”.
“‘Graças a Deus por quê?”
“Porque se eu tivesse gostado e se ela tivesse provocado em mim os efeitos que, segundo dizem, a maconha provoca nas pessoas, eu poderia ter fumado de novo. Ou então poderia experimentar algo mais forte.”
Brunetti pensou que também tinha tido sorte.
“O que foi que matou o rapaz?”
“Heroína.”
Paola sacudiu a cabeça.
“Eu estava com os pais dele até agora há pouco.” Ele tomou mais um gole. “O pai dele é agricultor. Vieram lá do Trentino para identificar o corpo e em seguida voltaram.”
“Eles têm outros filhos?”
“Têm uma filha mais nova. Não sei se existem outros.”
“Espero que sim.” Paola esticou as pernas e enfiou os pés debaixo da coxa dele. “Você quer comer?”
“Sim, mas antes vou tomar um banho.”
“Está bem”, ela disse, pondo os pés no chão. “Preparei um molho com pimentões e salsicha.”
“Eu sei.”
“Chiara vai chamar você assim que tudo estiver pronto.” Ela se levantou e pôs seu copo, cheio pela metade, em cima da mesinha diante do sofá. Deixou Brunetti no escritório e foi para a cozinha acabar de
preparar o jantar.
Quando todos se sentaram — Raffi voltou para casa no momento em que Paola servia o prato — o ânimo de Brunetti havia melhorado um pouco. Ao ver os filhos devorando a papardelle recém-preparada, foi tomado
por uma sensação animal de segurança e bem-estar e começou a comer com muito apetite. Paola tinha se dado ao trabalho de remover as cascas dos pimentões vermelhos e assim eles ficaram macios e adocicados,
do jeito que Brunetti gostava. Grãos de pimenta vermelha e branca se escondiam no recheio macio das salsichas como bombas de profundidade de sabor, prestes a explodir na primeira mordida, e Gianni, o açougueiro,
tinha usado e abusado do alho.
Todo mundo repetiu o prato. Em seguida ninguém tinha espaço para mais nada, exceto para uma salada verde, mas após comerem, cada um deles descobriu um pequeno espaço capaz de conter um pouquinho de morangos
frescos, temperados com uma gota de vinagre balsâmico.
Durante o tempo todo Chiara continuou a representar o papel de Ancient Mariner, catalogando interminavelmente a fauna e a flora de terras distantes, transmitindo a chocante informação de que a maioria
dos marinheiros do século XVIII não sabia nadar e — até que Paola a fez lembrar de que todos estavam comendo — descrevendo os sintomas do escorbuto.
Os filhos desapareceram, Raffi para o seu aoristo grego, e Chiara, se Brunetti entendeu bem, para um naufrágio no Atlântico Sul.
“Ela vai ler todos aqueles livros?”, ele perguntou, tomando um gole de grappa e fazendo companhia a Paola, enquanto ela lavava a louça.
“Com toda a certeza”, ela respondeu, concentrando-se em limpar uma bandeja.
“Ela está lendo porque você gosta muito deles ou porque ela gosta?”
“Que idade ela tem?”, perguntou Paola, de costas, enquanto areava uma panela.
“Quinze anos.”
“Você conhece alguma garota de quinze anos que faz o que a mãe dela quer que ela faça?”
“Isso quer dizer que a adolescência chegou com tudo?” Eles tinham passado por aquilo tudo com Raffi, se Brunetti bem se lembrava, e ele não estava a fim de começar tudo de novo com Chiara.
“Com as meninas é diferente”, disse Paola, virando e enxugando a mão num pano de prato. Serviu-se de um pouquinho de grappa e se encostou na beirada da pia.
“Diferente como?”
“Elas se opõem à mãe, não ao pai.”
“E isso é bom ou ruim?”
Paola deu de ombros. “Não sei se é bom ou ruim, mas está nos genes ou na cultura e então não dá para fugir. Só nos resta a esperança de que a coisa não dure muito tempo.”
“E quanto tempo costuma durar?”
“Até ela completar dezoito anos.” Paola bebeu mais um gole e ambos pensaram naquela perspectiva.
“Será que as carmelitas aceitam ficar com ela até lá?”
“Provavelmente não”, declarou Paola, encantadoramente pesarosa.
“Você acha que é por isso que os árabes deixam as filhas casar tão novas? Será que eles querem evitar aborrecimentos?”
Paola recordou a ardente defesa que Chiara fizera aquela manhã de sua necessidade de ter seu próprio telefone. “Com toda a certeza.”
“Não é à toa que as pessoas falam da Sabedoria do Oriente.”
Paola se voltou e pôs o copo no fundo da pia. “Ainda preciso corrigir algumas provas. Enquanto isso quer me fazer companhia e ver como os gregos estão se saindo na viagem de volta ao lar?”
Brunetti, agradecido, levantou-se e seguiu-a em direção ao escritório.
15.
Na manhã seguinte, com enorme relutância, Brunetti fez algo que raramente fazia: envolver um de seus filhos em seu trabalho. Raffi tinha de ir para a universidade somente às onze e antes teria um encontro
com Sara Paganuzzi, de modo que apareceu para tomar o café da manhã alegre e animado, o que não era muito frequente àquela hora. Paola ainda dormia, Chiara estava no banheiro e assim eles ficaram a sós
na cozinha, comendo os brioches frescos que Raffi acabara de comprar na confeitaria.
“Raffi”, disse Brunetti, enquanto comiam o primeiro brioche, “você sabe algo a respeito de quem vende drogas aqui?”
Raffi interrompeu o trajeto do último pedaço de brioche até sua boca. “Aqui?”
“Em Veneza.”
“Drogas pesadas ou troço leve tipo maconha?”
Embora um pouco perturbado com essa distinção feita por Raffi e querendo saber o motivo daquela referência desdenhosa ao “troço leve tipo maconha”, Brunetti nada perguntou. “Refiro-me a drogas pesadas,
especificamente à heroína.”
“É sobre aquele estudante que morreu de overdose?”, perguntou Raffi, e notando que seu pai parecia estar surpreso, ele abriu o Gazzettino e mostrou o artigo. Uma foto, pouco maior do que um selo, mostrava
um jovem. Poderia ser a foto de qualquer jovem de cabelo preto e com dois olhos. Poderia facilmente ser uma foto de Raffi.
“Certo.”
Raffi partiu em dois pedaços o que restava do seu brioche, mergulhando um deles no café. Disse, após um momento: “Falam que lá na universidade tem quem consiga a droga para a gente”.
“E de quem se trata?”
“De alunos. Pelo menos é o que eu acho.” Ele acrescentou, após refletir durante um momento: “De gente que está matriculada”. Raffi segurou sua xícara com as duas mãos e apoiou os cotovelos na mesa, um
gesto que certamente copiava de Paola. “Você quer que eu investigue?”
“Não”, Brunetti disparou de volta. Antes que o filho pudesse reagir à aspereza da resposta, ele prosseguiu: “Só estou com uma curiosidade geral, fico imaginando o que as pessoas dizem”. Acabou de comer
o brioche e tomou um último gole de café.
“O irmão de Sara estuda lá, na Faculdade de Economia. Posso perguntar se ele sabe de alguma coisa.”
A tentação era forte, mas Brunetti se livrou dela com um aborrecido “Não, não se incomode. Foi apenas uma ideia”.
Raffi pôs a xícara sobre a mesa. “Papà, pode ficar tranquilo porque eu não me interesso por nada disso.”
Brunetti se surpreendeu com o tom grave que a voz de Raffi tinha assumido. Em breve ele seria um homem feito ou talvez a necessidade de reconfortar seu pai significava que ele já era.
“Fico contente de saber.” Ele estendeu o braço, deu um tapinha no braço do filho e em seguida mais um. Levantou-se e se aproximou do fogão. “Faço mais um café?”, perguntou, levando a cafeteira até a pia
e abrindo-a.
Raffi consultou o relógio. “Não. Obrigado, Papà, preciso ir.” Ele empurrou a cadeira, levantou-se e saiu da cozinha. Daí a alguns minutos, enquanto esperava o café ficar pronto, Brunetti ouviu o barulho
da porta batendo. Ouviu também os passos de Raffi, que descia ruidosamente a escada, mas a súbita erupção do café abafou os ruídos.
Ainda era cedo para as barcas estarem lotadas, então Brunetti pegou a barca 82 e desceu em San Zaccaria. Comprou dois jornais e foi para o escritório. Não se mencionava mais a morte de Rossi e a nota sobre
Marco Landi informava pouco mais do que nome e idade. Logo acima havia uma notícia que já tinha virado rotina: um carro lotado de jovens tinha se chocado violentamente contra uma árvore à beira de uma
das autoestradas em direção a Treviso.
Essa história sinistra tinha se repetido tantas vezes durante os últimos anos que ele mal precisou correr os olhos pela matéria para saber o que tinha acontecido. Os jovens — nesse caso dois rapazes e
duas garotas — saíram da boate às três da madrugada e foram embora no carro do pai do rapaz que dirigia. Decorrido algum tempo, o motorista foi atingido por aquilo que os jornais denominavam ritualmente
un colpo di sonno. O carro saiu da autoestrada e bateu numa árvore. Ainda era cedo demais para saber o motivo da sonolência, mas em geral ela era provocada por bebidas alcoólicas ou drogas. Isso, porém,
não seria devidamente esclarecido enquanto não se realizasse a autópsia do rapaz que dirigia e de outros que ele porventura levou para o túmulo junto com ele. Àquela altura a notícia não ocuparia mais
as primeiras páginas dos jornais, substituída por fotos de outros jovens, vítimas de sua juventude e de seus muitos desejos.
Brunetti pôs o jornal em cima da mesa e desceu para o escritório de Patta. Como não havia o menor sinal da signorina Elettra, ele bateu na porta. Entrou assim que ouviu a resposta tonitruante de Patta.
Um homem diferente estava sentado diante da mesa, pelo menos diferente daquele que Brunetti vira da última vez. Patta estava de volta: alto, elegante, trajava um terno de tecido fino, que acariciava seus
ombros largos com dedos respeitosos, diáfanos. Sua pele reluzia de saúde, e os olhos, de serenidade.
“De que se trata, commissario?”, ele perguntou, desviando o olhar da única folha de papel que estava sobre a mesa.
“Gostaria de trocar umas palavras com o senhor, vice-questore”, disse Brunetti, aproximando-se da cadeira em frente à mesa de Patta e aguardando o convite para se sentar.
Patta puxou a manga engomada da camisa para conferir um reluzente relógio de pulso. “Disponho de alguns minutos. Qual é o assunto?”
“Trata-se de Jesolo, senhor, e de seu filho. Será que o senhor chegou a alguma decisão?”
Patta se recostou na cadeira. Ao notar que Brunetti poderia ver com facilidade o papel que estava diante dele, virou-o e pôs as mãos sobre a página em branco. “Acho que não há qualquer decisão a ser tomada,
commissario”, ele declarou. Parecia intrigá-lo o fato de Brunetti pensar em fazer semelhante pergunta.
“Queria saber se o seu filho estaria disposto a falar a respeito das pessoas de quem ele obteve as drogas.” Com a habitual precaução, Brunetti se controlou para não dizer “de quem ele comprou as drogas”.
“Se ele soubesse quem eram essas pessoas, tenho certeza de que estaria mais do que disposto a revelar à polícia tudo que pudesse.” Brunetti detectou, na voz de Patta, a mesma confusão e indignação que
detectara em toda uma geração de testemunhas e suspeitos contrariados e, em seu semblante, notou o mesmo sorriso patentemente inocente e um pouco desconcertado. O tom com que Patta falava não admitia contradição.
“Se ele soubesse quem eram essas pessoas?”, Brunetti repetiu, na forma de pergunta.
“Exato. Como você sabe, meu filho não tem a menor ideia de como as drogas chegaram até ele e de quem está por trás disso.” Patta tinha a voz calma e o olhar firme.
“Ah, então é assim que tudo será resolvido”, pensou Brunetti. “E o que o senhor me diz das impressões digitais?”
O sorriso de Patta foi amplo e parecia ser autêntico. “Eu sei o que todo mundo deve ter pensado quando meu filho foi interrogado pela primeira vez. No entanto, ele me disse — e disse também à polícia —
que encontrou o envelope no bolso quando saiu da boate. Enfiou a mão no bolso para pegar o maço de cigarros e não entendeu nada quando encontrou aquele negócio ali. Assim, como qualquer pessoa faria, abriu
o envelope para ver o que tinha dentro. Aí está, ele deve ter tocado em alguns dos envelopes menores.”
“Em alguns?”, perguntou Brunetti, num tom deliberadamente isento de ceticismo.
“Em alguns”, repetiu Patta com uma firmeza que encerrou a discussão.
“O senhor leu os jornais de hoje?”, perguntou Brunetti, surpreendido por ter feito a pergunta, que surpreendeu igualmente seu superior.
“Não”, respondeu Patta, acrescentando algo que a Brunetti pareceu gratuito. “Estive muito ocupado desde que cheguei para ter tempo de ler jornais.”
“Quatro adolescentes foram vítimas de um acidente perto de Treviso, ontem à noite. Eles vinham de uma boate, o carro saiu da pista e se chocou contra uma árvore. Um rapaz, aluno da universidade, morreu,
e os outros ficaram gravemente feridos.” Brunetti fez uma pausa diplomática.
“Não, não soube de nada.” Patta também fez uma pausa, mas era a pausa de um comandante da artilharia, decidindo qual seria o efeito da próxima salva de tiros. “Por que o senhor está me contando isso?”
“Morreu, um dos garotos morreu. O jornal informou que o carro ia a uns cento e vinte quilômetros por hora quando atingiu a árvore.”
“Ninguém vai negar que isso é uma desgraça, commissario.” Patta fez o comentário com o mesmo envolvimento de alguém que se referisse à morte do gato da vizinha. Voltou a atenção para a mesa, pegou o papel,
estudou-o e lançou um olhar para Brunetti. “Se isso aconteceu em Treviso, imagino que a investigação está a cargo das autoridades locais, não de nós.” Examinou atentamente o papel, leu algumas linhas e
voltou a olhar para Brunetti, como se estivesse surpreso ao constatar que ele ainda estava lá. “Algo mais, commissario?”, perguntou.
“Não, senhor, nada mais.”
Quando Brunetti saiu do escritório, seu coração batia com tanta força que ele teve de se encostar na parede, sentindo um certo alívio porque a signorina Elettra não estava ali. Não se mexeu até que a respiração
voltasse ao normal. Quando enfim se controlou, voltou para o escritório.
Fez o que sabia que tinha de fazer: a rotina desviaria seus pensamentos da raiva que sentia de Patta. Examinou os papéis espalhados sobre a mesa até encontrar o número de telefone que estava na carteira
de Rossi. Discou o número de Ferrara e dessa vez atenderam depois que o telefone tocou três vezes. “Gavini e Cappelli”, disse uma voz feminina.
“Bom dia, signora. Quem fala é o commissario Guido Brunetti, da polícia de Veneza.”
“Um momento, por favor”, ela disse, como se estivesse esperando por aquele telefonema. “Vou transferi-lo.”
A linha emudeceu, enquanto ela fazia a transferência, e então um homem disse: “Gavini. Que bom que finalmente alguém respondeu nosso telefonema. Espero que o senhor possa nos dizer algo”. O tom de voz
era grave e demonstrava que o homem estava ansioso para ouvir notícias de Brunetti, quaisquer que fossem.
Ele levou um momento para responder. “Receio que leve vantagem sobre mim, signor Gavini. Não recebi recado algum do senhor.” Como Gavini não disse nada, ele continuou: “Gostaria de saber o que estaria
esperando da polícia de Veneza quando ela lhe telefonasse”.
“Trata-se de Sandro. Telefonei para a casa dele depois que ele morreu. A esposa dele me disse que ele havia encontrado alguém em Veneza que parece estar disposto a falar.”
Brunetti estava a ponto de interromper Gavini quando ele fez uma pausa e perguntou: “O senhor tem certeza de que ninguém recebeu meu recado?”.
“Não sei, signore. Com quem falou?”
“Com um dos policiais. Não me lembro do nome.”
“Pode repetir para mim o que disse a ele?”, pediu Brunetti, pegando um pedaço de papel.
“Já lhe disse: telefonei após a morte de Sandro. O senhor tinha conhecimento disso?”
“Não.”
“Refiro-me a Sandro Cappelli”, disse Gavini, como se aquele nome explicasse tudo. Na verdade, algo se insinuou nas recordações de Brunetti. Não conseguia lembrar por que conhecia aquele nome, mas tinha
certeza de que alguma coisa ruim estava ligada a ele. “Ele era meu sócio aqui no escritório”, acrescentou Gavini.
“Que espécie de escritório, signor Gavini?”
“De advocacia. Somos advogados. O senhor não sabe nada a esse respeito?” Pela primeira vez um tom exasperado escapou de Gavini, um tom que inevitavelmente surgia na voz de qualquer pessoa que perdia muito
tempo tratando com um burocrata insensível.
A menção ao fato de os dois serem advogados refrescou a memória de Brunetti. Recordou-se do assassinato de Sandro Cappelli, ocorrido havia quase um mês. “Sim, sei o nome do seu sócio. Ele levou um tiro,
não é mesmo?”
“Ele estava de pé, diante da janela do escritório, atrás dele um cliente, às onze da manhã. Alguém atirou nele através da janela com um rifle de caça.” Ao detalhar as circunstâncias da morte de seu sócio,
a voz de Gavini tinha o ritmo staccato da autêntica ira.
Brunetti tinha lido nos jornais notícias do assassinato, mas desconhecia os fatos. “Há alguém suspeito?”, perguntou.
“Claro que não”, Gavini rebateu, sem disfarçar a ira que transbordava. “Mas todos nós sabemos quem fez isso.”
Brunetti esperou que Gavini declinasse o nome do culpado. “Os agiotas. Sandro estava na pista deles fazia anos. Quando morreu tinha quatro processos contra eles.”
O policial que existia em Brunetti o levou a perguntar: “Existe alguma prova disso, signor Gavini?”.
“Claro que não. Eles mandaram alguém, pagaram uma pessoa. Foi um contrato de assassinato: o tiro partiu do telhado de um prédio do outro lado da rua. Até a polícia daqui afirmou que o assassino era contratado.
Quem mais haveria de querer matar o Sandro?”
Brunetti dispunha de muito poucas informações para poder responder perguntas sobre a morte de Cappelli, mesmo que fossem retóricas, e, assim sendo, disse: “Peço-lhe desculpas por ignorar as circunstâncias
da morte de seu sócio, signor Gavini, e por não saber quais foram as pessoas responsáveis. Telefonei-lhe para tratar de um assunto completamente diferente, mas depois do que o senhor disse, não tenho certeza
de que seja tão diferente assim”.
“O que o senhor quer dizer com isso?”, perguntou Gavini. Embora houvesse alguma insolência no modo como se exprimia, ele parecia estar curioso e interessado.
“Estou telefonando ao senhor a respeito da morte de uma pessoa aqui em Veneza, morte que parece acidental, mas que pode não ser.” Brunetti esperou as perguntas de Gavini, que não se manifestou, e prosseguiu:
“Um homem caiu de um andaime e morreu. Trabalhava no Ufficio Catasto e, ao morrer, tinha o número de alguns telefones na carteira, mas sem o código da cidade. O número do seu telefone fazia parte da lista”.
“Como é que ele se chamava?”
“Franco Rossi.” Brunetti deu alguns instantes para o outro consultar a memória ou refletir e então perguntou: “Esse nome significa algo para o senhor?”.
“Não, não significa nada.”
“Haveria como o senhor descobrir se acaso ele significava algo para seu colega?”
Gavini levou um bom tempo para responder. “Tem o número do telefone dele? Posso consultar o fichário”, sugeriu.
“Um momento.” Brunetti abriu uma das gavetas da mesa, pegou uma lista telefônica e conferiu os nomes dos assinantes. Havia sete colunas com o nome Rossi e cerca de doze eram Franco. Localizou o endereço
e passou o número do telefone para Gavini. Pediu-lhe em seguida que aguardasse, enquanto virava as páginas da Comune de Veneza para encontrar o número do telefone do Ufficio Catasto. Se Rossi tinha sido
precipitado ao ponto de ligar para a polícia de seu telefonino, então nada o impediria de telefonar para o advogado no escritório ou receber telefonemas ali.
“Vou levar um tempo para conferir o fichário”, disse Gavini. “Um cliente está à minha espera, mas assim que ele se retirar eu volto a ligar.”
“Talvez o senhor possa pedir a sua secretária para ligar para mim.”
A voz de Gavini assumiu subitamente um tom de excessiva formalidade, quase de cautela. “Não, prefiro eu mesmo telefonar.”
Brunetti disse que aguardaria a chamada, deu o número de seu telefone e ambos desligaram.
Um telefone fora de serviço havia meses, uma senhora idosa que não conhecia ninguém chamado Franco Rossi, uma agência de aluguel de automóveis que não tinha um cliente com aquele nome e agora o sócio de
um advogado cuja morte fora tão violenta como a de Rossi… Brunetti sabia muito bem quanto tempo poderia ser desperdiçado com faros errados e pistas falsas, mas pressentia que aquela trilha o levaria a
sua caça, embora não tivesse ideia do que se tratava e no que aquilo tudo daria.
Como as pragas do Egito, os agiotas se abatiam sobre os cidadãos da Itália e lhes impunham toda espécie de tormentos. Os bancos relutavam em conceder crédito e, em geral, exigiam como garantia o tipo de
segurança financeira que eliminaria a necessidade de recorrer a um empréstimo. Era virtualmente inexistente o crédito de curto prazo para um empresário que tivesse pouco dinheiro em caixa no fim do mês
ou para um negociante cujos clientes custavam a pagar. A tudo isso se somava o hábito de pagar as contas com atraso, quase um esporte nacional.
Era nessa brecha que se insinuavam, como todo mundo sabia, mas poucos admitiam, os usurários, gli strozzini, aquela gente dissimulada, disponível e apta para fazer um empréstimo de última hora e com garantias
mínimas. As taxas de juros que eles cobravam mais do que recompensavam o risco. Em certo sentido, a ideia de risco era, na melhor das hipóteses, algo acadêmico, pois os strozzini empregavam métodos que
reduziam muito a possibilidade de que seus clientes — se é que podiam ser chamados assim — deixassem de pagar o dinheiro emprestado. Homens tinham filhos, e eles poderiam desaparecer; homens tinham filhas,
e elas poderiam ser estupradas; homens tinham suas vidas e era sabido que muitos a perderam. Ocasionalmente a imprensa dava notícias que, sem ser inteiramente claras, conseguiam ainda assim sugerir que
certos atos, frequentemente desagradáveis ou violentos, eram o resultado do não pagamento de dinheiro emprestado pelos agiotas. No entanto, era raro que as pessoas envolvidas com aquelas histórias acabassem
movendo um processo ou recorressem à polícia. Um muro de silêncio envolvia as operações dos agiotas. Brunetti precisava se esforçar para se lembrar de um processo que tivesse reunido provas suficientes
para embasar uma condenação por usura, crime que constava do direito penal, ainda que surgisse com pouca frequência nos tribunais.
Brunetti, acomodado numa cadeira, permitiu que sua imaginação e sua memória ponderassem as perspectivas abertas pelo fato de que Franco Rossi poderia ter o número do telefone do escritório de Sandro Cappelli
na carteira quando morreu. Tentou recordar a visita de Rossi e recuperar as impressões que tivera dele. Rossi tinha feito seu trabalho com muita seriedade: talvez essa tenha sido a impressão mais duradoura.
Um pouco desprovido de humor, mais austero do que parecia ser possível num homem tão jovem, Rossi ainda assim tinha sido amável e disposto a proporcionar qualquer ajuda que estivesse ao seu alcance.
Todos esses pensamentos, na ausência de uma ideia clara do que estava acontecendo, não levaram Brunetti a lugar algum, mas o ajudaram a passar o tempo até que Gavini telefonou.
Brunetti atendeu no primeiro toque. “Aqui é Brunetti.”
“Commissario”, disse Gavini, identificando-se. “Examinei as fichas dos clientes e consultei o Auxílio à Lista.” Brunetti esperou que ele desse mais informações. “Não consta cliente algum com o nome de
Franco Rossi, mas Sandro telefonou três vezes para o número dele durante o mês que antecedeu sua morte.”
“E para qual telefone? O de casa ou do trabalho?”
“Isso faz alguma diferença?”
“Tudo pode fazer diferença.”
“O do escritório dele”, disse Gavini.
“Quanto tempo os telefonemas duraram?”
O homem provavelmente tinha as informações sob os olhos, pois respondeu sem hesitar: “A primeira chamada durou doze minutos, a segunda seis e a terceira oito”. Gavini esperou que Brunetti se manifestasse,
o que não aconteceu, e então perguntou: “E quanto a Rossi? O senhor sabe se ele telefonou para Sandro?”.
“Ainda não conferi o registro dos telefonemas dele”, disse Brunetti, um tanto envergonhado. Gavini não disse nada e ele prosseguiu: “Vou conferir amanhã”. Lembrou-se subitamente de que aquele homem era
um advogado, não um colega, de que não tinha responsabilidade alguma em relação a ele e não precisava compartilhar informações com ele.
“Qual é o nome do magistrado que está cuidando do caso aí?”
“Por que o senhor quer saber?”
“Gostaria de conversar com ele”, Brunetti afirmou.
Seguiu-se um longo silêncio.
“O senhor sabe o nome dele?”, Brunetti insistiu.
“Righetto, Angelo Righetto”, foi a sucinta resposta. Àquela altura Brunetti decidiu não fazer mais pergunta alguma. Agradeceu a Gavini, não prometeu que lhe telefonaria para dar informações a respeito
de quaisquer chamadas que Rossi pudesse ter feito e desligou, intrigado com a frieza com que Gavini pronunciou o nome da pessoa encarregada de investigar o assassinato de seu sócio.
Discou imediatamente para a signorina Elettra e solicitou que ela conseguisse o registro de todos os telefonemas dados da residência de Rossi durante os últimos três meses. Quando lhe perguntou se seria
possível verificar o número do telefone da sala de Rossi no Ufficio Catasto e conferi-lo, ela perguntou se ele queria a lista dos telefonemas dados nos últimos três meses.
Enquanto ela ainda estava na linha, Brunetti pediu uma ligação interurbana para o Magistrato Angelo Righetto, em Ferrara, pois queria entrar em contato com ele o mais rápido possível.
Brunetti pegou uma folha de papel e começou a fazer uma lista dos nomes das pessoas que ele julgava capazes de informá-lo sobre os agiotas da cidade. Nada sabia a respeito deles, pelo menos nada mais real
do que sua vaga certeza de que eles agiam lá, tão profundamente encrustados no tecido social como vermes em carne apodrecida. A exemplo de certas formas de bactérias, eles precisavam da segurança oferecida
por um lugar escuro, abafado, onde pudessem se desenvolver. O terrível estado de intimidação em que seus devedores ficavam não proporcionava luz ou ar. Sigilosamente, com a ameaça não verbalizada das consequências
de um pagamento atrasado ou não realizado, ameaça sempre presente no ânimo de seus devedores, os agiotas prosperavam e engordavam. Para Brunetti o espantoso era sua ignorância dos nomes deles, dos rostos
e histórias, bem como, ele percebeu quando olhou para a folha de papel ainda em branco, sua desorientação a respeito de quem ele poderia procurar para solicitar ajuda, para tentar expô-los à luz do dia.
Ocorreu-lhe o nome de uma mulher e ele abriu uma lista telefônica para localizar o número do telefone do banco onde ela trabalhava. Nesse momento o telefone tocou e ele atendeu, dizendo seu nome.
“Dottore”, era a signorina Elettra, “o magistrato Righetto está numa ligação interurbana, caso o senhor queira falar com ele.”
“Quero sim, signorina. Ponha-nos em contato, por favor.” Brunetti deixou de lado a caneta e o papel.
“Quem fala é Righetto”, disse uma voz grave.
“Magistrato, aqui é o commissario Guido Brunetti, de Veneza. Estou telefonando para perguntar o que o senhor pode me dizer sobre o assassinato de Alessandro Cappelli.”
“Qual é o motivo de seu interesse?” Não havia indícios de grande curiosidade na pergunta. Ele falava com um sotaque que pareceu a Brunetti ser do sul do Tirol. Era, de qualquer modo, um sotaque nortista.
“Estamos tratando aqui de uma ocorrência, de outra morte que poderia ser relacionada à morte dele e gostaria de saber o que o senhor descobriu a respeito de Cappelli.”
Fez-se uma longa pausa e então Righetto disse: “Muito me surpreenderia se qualquer outra morte se relacionasse com a dele”. Ele fez uma breve pausa para que Brunetti lhe perguntasse algo, mas como a pergunta
não surgiu, ele continuou: “Parece que estamos tratando de um caso de equívoco de identidade, não de assassinato”. Righetto se interrompeu durante um instante e em seguida se corrigiu. “É claro que foi
um assassinato, mas não era Cappelli quem tentavam matar e sequer temos a certeza de que queriam mesmo matar o outro homem; talvez eles só quisessem assustá-lo.”
Sentindo que já era o momento de demonstrar interesse, Brunetti perguntou: “Então o que foi que aconteceu?”.
“Eles estavam atrás do sócio dele, Gavini”, explicou o magistrado. “Pelo menos é isso que nossa investigação sugere.”
“Por quê?”, Brunetti perguntou, sem disfarçar a curiosidade.
“Desde o início não fazia o menor sentido que alguém quisesse matar Cappelli”, declarou Righetto, dando a entender que nenhuma importância devia ser dada à posição de Cappelli como inimigo declarado dos
agiotas. “Investigamos seu passado, chegamos até mesmo a verificar os atuais processos em que ele estava trabalhando, mas não existe a menor indicação de um envolvimento dele com alguém que quisesse fazer
semelhante coisa.”
Brunetti fez um barulhinho que poderia ser interpretado como um suspiro de compreensão e concordância.
“Por outro lado”, Righetto prosseguiu, “temos o sócio dele.”
“Gavini”, disse Brunetti desnecessariamente.
“Sim, Gavini”, disse Righetto, dando uma risadinha. “Ele é bem conhecido na área, goza da reputação de ser mulherengo. Infelizmente tem o hábito de se envolver com mulheres casadas.”
“Ah”, exclamou Brunetti, com um suspiro de gente bem vivida, no qual conseguiu infundir um nível apropriado de tolerância masculina. “Então foi isso?”, ele perguntou, com neutra aceitação.
“Sim, ao que parece. Nos últimos anos ele se relacionou com quatro mulheres diferentes, todas elas casadas.”
“Coitado…”, disse Brunetti. Esperou o tempo suficiente para ponderar as implicações cômicas do que acabara de dizer e então acrescentou, rindo: “Talvez ele devesse ter se limitado a uma mulher só”.
“Sim, mas como é que um homem pode decidir?”, rebateu o magistrado. Brunetti acolheu essa pergunta com outra risada. “O senhor tem alguma ideia de qual delas se tratava?” Interessava-lhe saber como Righetto
lidaria com a pergunta, o que, por sua vez, sugeriria como ele iria lidar com a investigação.
Righetto fez uma pausa, pois queria, sem dúvida, transmitir a impressão de que estava refletindo, e então disse: “Não. Interrogamos as mulheres e os respectivos maridos, mas todos eles podem provar que
estavam em outros lugares quando se deu o fato”.
“Achei que os jornais noticiaram que foi ação de um profissional”, declarou Brunetti, parecendo confuso.
Righetto alterou-se. “Se o senhor é policial deve ser cauteloso e não acreditar no que lê nos jornais.”
“É claro”, concordou Brunetti, querendo transmitir a impressão de que merecia a reprovação de um colega de maior experiência e sensatez. “O senhor acha que talvez houvesse ainda outra mulher?”
“É a pista que estamos seguindo.”
“Aconteceu nos escritórios deles, não foi?”
“Sim”, respondeu Righetto, disposto a dar mais informações, depois de Brunetti ter jogado aquela isca. “Os dois homens eram parecidos, ambos baixos, de cabelos pretos. O fato ocorreu num dia chuvoso. O
assassino estava no telhado de um edifício, do outro lado da rua. Assim, não há muitas dúvidas de que ele confundiu Cappelli com Gavini.”
“Mas por que toda esta conversa de que Cappelli foi morto por causa da investigação sobre os agiotas?”, Brunetti perguntou, num tom cético o suficiente para deixar claro para Righetto que nem passava pela
sua cabeça acreditar naquele disparate, mas mesmo assim queria obter a resposta correta para a eventualidade de ter de dar esclarecimentos a alguém mais inocente do que ele, disposto a acreditar em tudo
o que lia nos jornais.
“Começamos por examinar essa possibilidade, mas nada descobrimos e assim a excluímos de nossa investigação.”
“Cherchez la femme”, disse Brunetti, errando de propósito a pronúncia do francês e dando mais uma risada.
Righetto o recompensou com sua própria risada espalhafatosa e então perguntou casualmente: “O senhor falou de outro morto. Foi um assassinato?”.
“Não, não confere com aquilo que o senhor me contou, magistrato”, declarou Brunetti, fazendo força para parecer lento e pé de boi. “O que estamos investigando só pode ter sido um acidente.”
16.
Como a maioria dos italianos, Brunetti acreditava que eram mantidos registros de todos os telefonemas dados em qualquer localidade do país e cópias de todos os faxes. Como muito poucos italianos, ele tinha
motivos para saber que aquilo era verdade. O fato é que, crença ou certeza, entretanto, o comportamento era o mesmo. Jamais se abordava, ao telefone, nada substancioso, nada que pudesse de algum modo incriminar
quem estava nos dois lados da linha ou que pudesse interessar quaisquer das agências governamentais dispostas a bisbilhotar quem quer que fosse. As pessoas recorriam a um código: “dinheiro” tornava-se
“vasos” ou “flores” e elas se referiam a investimentos ou a contas bancárias como “amigos” em países estrangeiros. Brunetti não tinha a menor ideia do quanto essa crença e a cautela resultante eram disseminadas,
mas quando telefonou para sua amiga do Banca di Modena, sabia o suficiente para sugerir que fossem tomar um café, em vez de tentar fazer diretamente seu pedido.
Como o banco ficava do outro lado do Rialto, eles combinaram de tomar um drinque antes do almoço no campo San Luca e assim se encontrariam na metade do caminho. Era um pouco penoso para Brunetti se encontrar
com sua amiga apenas para fazer algumas perguntas, mas estar com ela era o único modo de fazer com que Franca falasse abertamente. Sem nada explicar, sem nada dizer a ninguém, ele saiu do escritório, foi
em direção ao bacino e dali seguiu em direção a San Marco.
Enquanto caminhava ao longo da Riva degli Schiavoni, ele olhou para a esquerda, esperando ver rebocadores, mas ficou muito surpreso quando não encontrou nada. Em seguida, se deu conta de que eles não estavam
mais lá havia muitos anos. A memória tinha pregado uma bela peça nele. Como era possível esquecer uma coisa que ele conhecia tão bem? Era como não lembrar o número de seu telefone ou a fisionomia do padeiro.
Ignorava para onde os rebocadores tinham sido enviados e não se recordava de quantos anos se passaram desde que eles desapareceram, deixando espaço ao longo da riva para outros tipos de embarcação, sem
dúvida mais úteis para a indústria do turismo.
Que maravilhosos nomes em latim elas ostentavam, vermelhas e altivas, prontas em um instante para desatracar e auxiliar outras embarcações no Canale della Giudecca. As barcas que agora navegavam na cidade
provavelmente eram grandes demais para o modesto auxílio daqueles pequenos rebocadores. Eram monstros mais altos do que a Basilica, repletos de milhares de formas semelhantes a formigas aglomeradas nas
balaustradas. Quando atracavam, desciam-se as pranchas, e os passageiros estavam livres para perambular na cidade.
Brunetti parou de pensar naquilo, foi em direção à Piazza, atravessou-a, dobrou a esquina, saiu no centro da cidade e seguiu até o campo San Luca. Franca lá estava quando ele chegou, conversando com um
homem a quem Brunetti reconheceu, mas a quem não havia sido apresentado. Quando se aproximava eles se despediram com um aperto de mão. O homem foi para os lados do campo Manin e Franca ficou olhando a
vitrine de uma livraria.
“Ciao, Franca”, disse Brunetti, se pondo a seu lado. Eles tinham sido amigos na época do colégio, tinham sido mais do que amigos durante um tempo, mas então ela conheceu seu Mario e Brunetti entrou para
a universidade, onde conheceu sua Paola. Ela ainda tinha os mesmos cabelos louros e sedosos, um pouco mais claros do que os de Paola, e Brunetti agora sabia o suficiente sobre essas coisas para perceber
que ela recorria a certos artifícios para manter aquela cor. O resto, porém, permanecia: a robustez, um grande transtorno da sua juventude, se harmonizava com a maturidade; não tinha rugas, algo comum
em mulheres de seu porte, embora não houvesse provas de que houvesse algum artifício naquilo. Os olhos castanhos, de expressão suave, eram os mesmos, bem como o brilho que neles surgiu assim que ela ouviu
a voz de Brunetti.
“Ciao, Guido”, ela disse, estendendo o rosto para que ele lhe desse dois beijos.
“Ofereço-lhe um drinque”, ele disse, dando-lhe o braço, hábito de décadas, e levando-a em direção a um bar.
Ali chegando, resolveram tomar uno spritz e observaram o barman, enquanto ele misturava o vinho com água mineral e, em seguida, pingava nele uma gotinha de Campari, antes de cravar uma rodela de limão
na borda dos copos, após o que os serviu no balcão.
“Cin cin”, eles disseram ao mesmo tempo e tomaram os primeiros goles.
O barman pôs diante deles um pratinho com batatas fritas, que eles ignoraram. Aos poucos o bar se enchia de gente e eles tiveram de se acomodar bem perto das janelas externas, através das quais observavam
o movimento da cidade.
Franca sabia que eles estavam ali para falar de negócios. Se Brunetti quisesse bater um papo sobre a família dela teria telefonado ao invés de marcar aquele encontro em um bar tão repleto de gente que
ninguém conseguiria ouvir o que eles dissessem.
“Do que se trata, Guido?”, ela perguntou, mas sorriu para não parecer brusca.
“De agiotas”, ele respondeu.
Ela o encarou, desviou o olhar e voltou a encará-lo.
“E para quem você quer saber?”
“Para mim, é claro.”
Franca deu um leve sorriso. “Sei que tem de ser para você, Guido, mas é para você como policial que irá observá-los cuidadosamente ou é apenas o tipo de pergunta que um amigo faz?”
“Por que você quer saber?”
“Porque, se for a primeira hipótese, acho que nada tenho a dizer-lhe.”
“E se for a segunda?”
“Nesse caso posso falar.”
“E por que essa diferença?”, ele perguntou e em seguida foi até o balcão, onde pegou uma porção de batatas fritas, mais para dar tempo a ela para responder.
Franca estava pronta quando ele voltou. Balançou a cabeça, recusando as batatas que ele ofereceu, o que obrigou Brunetti a comê-las.
“Se for a primeira opção, tudo o que eu lhe disser talvez tenha de repetir num tribunal ou você talvez terá de declarar onde obteve a informação.” Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta ela prosseguiu:
“Se for uma conversa descompromissada entre amigos, então eu lhe direi tudo o que puder, mas quero que saiba o seguinte: se acaso me perguntarem, direi que não me lembro de ter dito o que quer que seja”.
Ela não sorriu ao dizer isso, embora Franca fosse uma mulher cuja alegria de viver fluía dela como a música flui de um realejo.
“Estas perguntas são tão perigosas assim?”, disse Brunetti, pegando os copos, agora vazios, e levando-os até o balcão do bar.
“Vamos lá para fora”, disse Franca. No campo, ela andou até parar à esquerda de um mastro, bem em frente das vitrines da livraria. Por acaso ou de propósito, Franca estava pelos menos a dois metros de
distância das pessoas mais próximas, duas velhas senhoras que se inclinavam uma para a outra, apoiadas em suas bengalas.
Brunetti se aproximou e ficou ao lado dela. A luminosidade se espalhava sobre os últimos andares das edificações, tornando os reflexos dos dois claramente visíveis nas vitrines. Desfocado e borrado, o
casal refletido poderia ser facilmente confundido com aqueles adolescentes que, décadas antes, ali se encontravam com frequência para tomar um café com amigos.
A pergunta foi feita sem restrições. “Você realmente tem esse medo todo?”
“Meu filho tem quinze anos”, ela disse, à guisa de explicação. O tom de voz com que se exprimia poderia ser empregado facilmente para fazer comentários sobre o tempo ou para falar do interesse de seu filho
por futebol.
“Guido, qual é o motivo de você querer que nos encontrássemos aqui?”
“Sei que você é uma mulher ocupada, sei onde você mora e achei que este seria um lugar conveniente. Você está quase em casa”, ele disse, sorrindo.
“É o único motivo?”, ela perguntou, desviando o olhar do Brunetti refletido na vitrine e encarando o Brunetti real.
“Sim. Por que você pergunta?”
“Na realidade você nada sabe a respeito de agiotas, não é mesmo?”, foi a única resposta que ela deu.
“Não. Sei que eles existem, sei que atuam aqui na cidade, mas nunca recebemos quaisquer denúncias a respeito deles.”
“Quem lida habitualmente com eles é a Finanza, não?”
Brunetti deu de ombros. Não tinha a menor ideia das atribuições dos policiais da Guardia di Finanza. Via-os frequentemente com seus uniformes cinza, decorados com as brilhantes insígnias de uma suposta
justiça, mas jamais se convencia de que eles fizessem muito mais do que encorajar pessoas oprimidas a conhecer novos métodos de evasão fiscal.
Ele acenou, pois não queria demonstrar sua ignorância.
Ela desviou o olhar e contemplou o pequeno campo. Indicou, com o queixo, o fast food do outro lado. “O que você está vendo?”
Brunetti olhou para a fachada envidraçada que se estendia pela maior parte daquele lado da pequena praça. Jovens entravam e saíam. Muitos deles estavam acomodados em mesinhas, claramente visíveis através
das enormes janelas.
“Vejo a destruição de dois mil anos de cultura culinária”, ele disse, rindo.
“E lá fora, o que vê?” ela perguntou, séria.
Ele olhou novamente, decepcionado com o fato de ela não ter achado graça em sua piada. Viu dois homens de ternos escuros conversando, cada um segurando uma pasta. À esquerda deles uma jovem, a bolsa pendendo
desajeitadamente do ombro, virava as folhas de uma caderneta de endereços ao mesmo tempo que tentava digitar um número no telefonino. Atrás dela um homem malvestido, aparentando uns sessenta e tantos anos,
alto, muito magro, inclinava-se para falar com uma mulher idosa, toda vestida de preto. A idade a fazia encurvar, e suas pequeninas mãos seguravam com força a alça de uma grande bolsa preta. O rosto minguado
e o nariz comprido, pontudo, formavam um conjunto que, adicionado à estranheza da postura, dava a impressão de que ela era um pequeno marsupial.
“Vejo algumas pessoas fazendo o que todo mundo faz no campo San Luca.”
“Isto é?”, Franca perguntou, encarando-o, dessa vez com ar severo.
“Se encontrando por acaso ou porque combinaram de se encontrar, conversando e então indo tomar um drinque, como nós fizemos. Em seguida vão almoçar em casa, assim como nós.”
“E o que me diz daqueles dois?” Ela apontou com o queixo o homem magro e a mulher idosa.
“Parece que ela está a caminho de casa e que acaba de voltar de uma missa comprida, rezada numa das menores igrejas daqui.”
“E quanto a ele?”
Brunetti olhou novamente para os dois, que continuavam imersos na conversa. “Parece que ela está tentando salvar a alma dele, mas ele não está minimamente a fim.”
“Ele não tem nenhuma alma para ser salva”, declarou Franca, surpreendendo-o, pois aquele julgamento era proferido por uma pessoa que ele nunca ouvira falar mal de quem quer que fosse. “E a velha também
não”, ela acrescentou num tom frio e impiedoso.
Franca deu um passo em direção à livraria e voltou a olhar a vitrine. Dando as costas a Brunetti, disse: “É Angelina Volpato e o marido dela, Massimo. Eles são dois dos piores agiotas da cidade. Ninguém
tem a menor ideia de quando começaram, mas durante os últimos dez anos é a eles que a maioria das pessoas recorreu”.
Brunetti sentiu a presença de alguém a seu lado. Uma mulher veio dar uma olhada na vitrine. Franca não disse nada e, assim que a mulher se afastou, ela continuou: “As pessoas sabem quem eles são, sabem
que eles estão aqui quase todas as manhãs. Vêm conversar com eles e então Angelina as convida para ir à casa dela”. Franca fez uma pausa e acrescentou: “Ela é uma verdadeira vampira”. Fez mais uma pausa
e, quando se acalmou, prosseguiu: “Ela convoca um tabelião para ir à casa dela e ali eles providenciam os documentos. Ela dá dinheiro às pessoas e elas entregam casas, negócios, os móveis da própria casa”.
“E qual é a quantia?”
“Depende do quanto as pessoas precisam e do tempo que o empréstimo durará. Se for apenas poucos milhões, então elas concordam em entregar a mobília. Porém, se for uma quantia significativa, cinquenta milhões
ou mais, então ela calcula os juros. Disseram-me que ela é capaz de calcular juros num instante, embora as mesmas pessoas tenham dito que ela é analfabeta e o marido dela também.” Franca parou, como que
perdida em seu próprio relato, e voltou a falar: “Se for uma quantia alta, não tem jeito, o devedor tem de passar a casa para o nome dela, se por acaso não pagar uma certa quantia numa determinada data”.
“E se alguém não paga, acontece o quê?”
“O advogado entra com um processo, pois ela dispõe de um documento assinado na presença de um tabelião.”
Enquanto Franca falava, sempre olhando para as capas dos livros na vitrine, Brunetti examinou sua memória, sua consciência e teve de reconhecer que nada daquilo era novidade para ele. Talvez ignorasse
os detalhes precisos, mas não o fato de que aquilo acontecia. Mas o assunto era da alçada da Guardia di Finanza, ou era até agora, até as circunstâncias e o mero acaso chamarem sua atenção para Angelina
Volpato e seu marido, que ainda estavam lá, entretidos, conversando, em um belo dia de primavera em Veneza.
“De quanto é o juro que eles cobram?”
“Depende do quanto as pessoas estão desesperadas”, Franca respondeu.
“E como é que os dois ficam sabendo?”
Franca desviou o olhar de um brinquedo que estava na vitrine — um porquinho dirigindo um carro de bombeiro — e encarou Brunetti. “Você sabe tanto quanto eu, todo mundo sabe. Basta alguém tentar obter empréstimo
num banco. Todos os bancários ficam sabendo no fim do dia, as famílias deles ficam sabendo na manhã do dia seguinte e a notícia se espalha pela cidade inteira após o almoço.”
Brunetti teve de admitir que aquilo era verdade, fosse porque os venezianos se relacionavam por parentesco ou amizade ou simplesmente porque a cidade era, na realidade, nada mais do que um lugar pequeno
e nenhum segredo poderia sobreviver durante muito tempo naquele mundo intenso, incestuoso. Para ele fazia pleno sentido que uma necessidade financeira se tornasse rapidamente de domínio público.
“Quanto é que eles cobram de juro?”
Franca começou a responder, hesitou e continuou: “Ouvi gente falar que é vinte por cento ao mês, mas também ouvi falar que é cinquenta”.
O veneziano que existia em Brunetti fez o cálculo em um instante. “Isso significa seiscentos por cento ao ano”, ele disse, incapaz de disfarçar sua indignação.
“Muito mais, caso se trate de juros compostos”, ela o corrigiu, demonstrando que as raízes de sua família na cidade eram mais profundas do que as de Brunetti.
Mais uma vez ele voltou a atenção para o casal do outro lado do campo. A conversa enfim foi encerrada e a mulher se afastou em direção ao Rialto, enquanto o homem se pôs a caminhar na direção dos dois.
Quando ele chegou perto, Brunetti notou a testa cheia de calombos, a pele áspera, maltratada, como se ele padecesse de uma doença que não tinha sido tratada, os lábios grossos e bolsas debaixo dos olhos.
O homem andava de um jeito esquisito, semelhante ao de um pássaro, e a cada passo que dava tomava o cuidado de pisar com leveza, como se estivesse preocupado em não desgastar os saltos dos sapatos que
já tinham ido várias vezes para o conserto. Seu rosto ostentava o fardo da idade e da doença, mas o andar oscilante, sobretudo quando Brunetti viu o homem por trás, no momento em que ele seguia pela calle
em direção da prefeitura, transmitia a estranha sensação de uma falta de jeito juvenil.
Quando Brunetti voltou a olhar para onde a velha estava, ela já tinha desaparecido, porém a imagem de um marsupial ou de algum tipo de rato bípede permaneceu em sua memória. “Como é que você sabe de tudo
isso?”, ele perguntou a Franca.
“Lembre-se de que eu trabalho num banco.”
“E aqueles dois são o último recurso para quem não consegue obter empréstimo num banco?” Ela fez que sim. “Mas como é que as pessoas tomam conhecimento da existência deles?”
Franca hesitou, como se estivesse pensando até que ponto poderia confiar em Brunetti, e confidenciou: “Disseram-me que algumas vezes gente que trabalha nos bancos os recomenda”.
“O quê?”
“Isso acontece quando alguém tenta tomar um empréstimo num banco e o pedido é recusado. Ocasionalmente um dos funcionários sugere que a pessoa tente conversar com os Volpato ou com quem quer que empreste
dinheiro e cobre juros.”
“E de quanto é a porcentagem?”, ele perguntou, em tom neutro.
Ela deu de ombros. “Disseram-me que depende.”
“Depende de quê?”
“Do montante do empréstimo ou do tipo de acordo que o banqueiro tem com os usurários.” Antes que Brunetti pudesse perguntar algo mais, ela acrescentou: “Se as pessoas precisam de dinheiro elas o conseguirão
com alguém. Se não for com amigos, a família ou um banco, então recorrerão a gente do tipo dos Volpato”.
Brunetti não teve como não ser direto: “Isso tem ligação com a Máfia?”.
“E o que não tem?” Ao notar a irritação de Brunetti, ela acrescentou: “Desculpe, foi apenas uma piada. Não tenho como afirmar que aqueles dois têm alguma conexão, mas se você pensar um pouco no assunto,
vai se dar conta de que seria um bom jeito de lavar dinheiro”.
Brunetti concordou. Somente a proteção da Máfia poderia permitir que algo tão lucrativo prosseguisse sem ser questionado e examinado pelas autoridades.
“Estraguei seu almoço?”, Franca perguntou, sorrindo subitamente e mudando de humor do jeito que ele se lembrava.
“Não, de jeito nenhum, Franca.”
“E qual é o motivo de você estar fazendo estas perguntas?”
“Talvez elas se liguem a outras coisas.”
“É o que acontece na maioria das vezes”, ela declarou, mas sem fazer mais nenhuma pergunta, outra qualidade que Brunetti sempre prezara em Franca. “Então vou para casa”, ela disse, se esticando para lhe
dar dois beijos.
“Obrigado, Franca.” Brunetti puxou-a para junto de si, reconfortado ao sentir seu corpo forte e sua determinação ainda mais forte. “É sempre uma alegria vê-la.” Ela deu um tapinha no braço dele, afastou-se
e no mesmo instante ele se deu conta de que não tinha feito nenhuma pergunta sobre outras pessoas que emprestavam dinheiro, mas não podia chamá-la de volta. Ir para casa foi o único pensamento que lhe
ocorreu.
17.
Enquanto caminhava, Brunetti deixou sua memória deslizar para os momentos que passara com Franca, havia mais de duas décadas. Estava consciente do quanto lhe agradara abraçar novamente aquele corpo que
um dia estivera tão próximo. Lembrou-se de um longo passeio que deram na praia do Lido, na noite do Redentore. Na época ele devia ter uns dezessete anos. Os fogos de artifício cessaram e eles caminharam
de mãos dadas, à espera da alvorada, relutantes em deixar a noite acabar.
A noite acabou, porém, assim como tantas coisas entre eles. Agora ela tinha seu Mario e ele sua Paola. Parou na Biancat e comprou uma dúzia de íris para Paola, feliz por fazê-lo, feliz ao pensar que ela
estaria em casa à sua espera.
Quando entrou ela estava na cozinha, debulhando ervilhas.
“Risi e bisi”, disse Brunetti ao notar as ervilhas e estendendo o maço de flores para ela.
Paola sorriu ao vê-las e disse, endireitando-se para receber o beijo dele: “Um risoto vai muito bem com ervilhas frescas, não é mesmo?”.
Beijo dado, ele respondeu, sem a menor lógica: “A menos que você seja uma princesa e precise esconder as ervilhas debaixo do colchão”.
“Acho o risoto uma ideia melhor. Quer pôr as flores num vaso, enquanto acabo?”, ela pediu, indicando com um gesto o saco de papel sobre a mesa, ainda cheio de favas de ervilhas.
Brunetti arrastou uma cadeira até as prateleiras, pegou uma folha de jornal e estendeu-a sobre o assento, subiu e esticou o braço para alcançar um dos vasos que estavam bem em cima de uma delas.
“Acho que o vaso azul combina com as flores”, ela disse, observando-o. Ele desceu da cadeira, colocou-a no lugar e levou o vaso até a pia.
“Até onde devo encher?”, perguntou.
“Encha pela metade. O que você gostaria de comer, depois do risoto?”
“O que temos?”
“O rosbife que comemos no domingo. Posso parti-lo em pedaços bem fininhos e em seguida uma salada talvez vá bem.”
“Chiara está comendo carne esta semana?” Incitada por um artigo sobre maus-tratos a animais, Chiara tinha declarado, uma semana antes, que seria vegetariana para o resto da vida.
“Você a viu comer rosbife no domingo, não?”, Paola perguntou.
“Ah, sim, claro”, ele disse, voltando sua atenção para as flores e rasgando o papel que as envolvia.
“Você está preocupado. O que foi que aconteceu?”
“As mesmas coisas de sempre”, ele respondeu, segurando o vaso e abrindo a torneira da pia. “Vivemos num universo em decadência.”
“Qualquer pessoa que exerça a sua ou a minha profissão está careca de saber disso.”
Curioso, Brunetti perguntou: “A sua profissão? Como é para vocês?”. Policial havia vinte anos, ele estava cansado de saber que a humanidade tinha caído em desgraça.
“Você lida com o declínio moral, e eu, com o declínio da mente.” Ela se exprimia naquele tom solene, quase zombeteiro, que empregava com frequência ao se pegar levando seu trabalho a sério. Perguntou,
em seguida: “Especificamente, o que deixou você assim hoje?”.
“Tomei um drinque com Franca antes do almoço”
“Como ela vai?”
“Muito bem. O filho dela está crescendo e acho que ela não gosta muito de trabalhar num banco.”
“E quem gostaria?”, disse Paola, porém era mais um comentário ritual do que uma pergunta séria. Ela voltou à declaração inicial de Brunetti, ainda sem explicação, e perguntou: “Como é que esse seu encontro
com a Franca fez você pensar que vivemos num universo decadente? Isso costuma exercer o efeito oposto, em todos nós”.
Ajeitando devagar, uma a uma, as flores no vaso, Brunetti repassou mentalmente o comentário dela, procurando nele um significado oculto, quem sabe até rancoroso, mas não encontrou nada. Paola já havia
observado o prazer dele em se encontrar com aquela velha e querida amiga e compartilhava a alegria que ele sentia ao lado de Franca. Essa descoberta fez o coração de Brunetti se contrair por um instante
e ele sentiu uma súbita onda de calor subir ao seu rosto. Uma das flores caiu no balcão da pia. Ele a pôs com as demais e afastou cuidadosamente o vaso da beirada do balcão.
“Franca falou que teme pelo Pietro, por isso ela não queria falar comigo a respeito de quem empresta dinheiro.”
Paola interrompeu o que estava fazendo e encarou-o. “Quem empresta dinheiro? E o que eles têm a ver com o que quer que seja?”
“Rossi, o funcionário do Ufficio Catasto que morreu, tinha o telefone de um advogado na carteira. Esse advogado estava processando alguns deles.”
“Um advogado de onde?”
“De Ferrara.”
“Não é o mesmo que eles assassinaram?”
Brunetti fez que sim, interessado no fato de Paola admitir que Cappelli havia sido assassinado por “eles”, e acrescentou: “O juiz encarregado da investigação excluiu quem empresta dinheiro e parecia estar
muito interessado em me convencer de que o assassino se enganou, escolheu o homem errado”.
Após longa pausa, durante a qual Brunetti ficou observando as expressões que o pensamento punha no rosto de Paola, ela perguntou: “É por causa de quem empresta dinheiro que ele foi assassinado?”.
“Não tenho como provar, mas é uma coincidência.”
“A vida é uma coincidência.”
“O assassinato não é.”
Ela cruzou as mãos em cima das cascas descartadas das ervilhas. “Mas desde quando se trata de um assassinato? Estou falando desse Rossi.”
“Não sei desde quando. Talvez desde nunca. Apenas quero descobrir o que aconteceu e verificar por que Rossi telefonou para Cappelli. Quem sabe eu consigo.”
“E Franca?”
“Achei que como ela trabalha num banco poderia saber algo a respeito de quem empresta dinheiro.”
“E eu acho que é isso que se espera dos bancos, que emprestem dinheiro.”
“Muitas vezes não emprestam, pelo menos não na última hora e para pessoas que talvez não paguem.”
“Mas então por que você fez essa pergunta para ela?” A julgar pela rigidez de sua postura, Paola poderia muito bem passar por um juiz em pleno interrogatório.
“Pensei que ela poderia ter conhecimento de alguma coisa.”
“Isso você já disse, mas por que Franca?”
Brunetti não tinha motivos, mas Franca foi a primeira pessoa cujo nome lhe ocorrera. Além disso, fazia algum tempo que não a via e queria se encontrar com ela. Nada mais do que isso. Ele enfiou as mãos
nos bolsos e deslocou seu peso para a perna esquerda. “Por nenhum motivo em especial”, disse finalmente.
Paola descruzou as mãos e continuou a debulhar as ervilhas. “O que foi que ela te disse e por que se preocupa tanto com Pietro?”
“Ela mencionou e até mesmo me mostrou duas pessoas.” Antes que Paola pudesse interrompê-lo ele disse: “Nós nos encontramos em San Luca e lá estava um casal. Os dois têm uns sessenta e tantos anos. Ela
disse que os dois emprestam dinheiro”.
“E Pietro?”
“Franca disse que poderia haver uma ligação com a Máfia e com lavagem de dinheiro, porém não quis adiantar mais nada.” Brunetti, ao ver o breve aceno de Paola, certificou-se de que ela compartilhava sua
opinião. A simples menção à Máfia bastaria para que qualquer pai temesse por seus filhos.
“Nem mesmo para você?”, ela perguntou.
Ele sacudiu a cabeça. Ela o encarou e ele repetiu o gesto.
“Mas então a coisa é séria”, Paola observou.
“Eu diria que sim.”
“E quem é o casal?”
“Angelina e Massimo Volpato.”
“Já tinha ouvido falar deles?”
“Não.”
“A quem você pediu informações a respeito deles?”
“A ninguém. Eu os vi há uns vinte minutos, antes de voltar para casa.”
“E o que pretende fazer?”
“Descobrir o que puder a respeito eles.”
“E depois?”
“Depende do que eu ficar sabendo.”
Após um silêncio Paola disse: “Hoje estive pensando em você, em seu trabalho. Lavar as janelas me fez pensar em você”. Brunetti ficou surpreendido.
“O que têm as janelas a ver com isso?”
“Eu lavei as janelas e em seguida lavei o espelho do banheiro. Foi então que pensei naquilo que você faz.”
Ele sabia que Paola iria continuar, mesmo que ele nada dissesse, mas também sabia que ela gostava de ser encorajada e então perguntou: “E?”.
“Quando você limpa uma janela”, ela disse, sem tirar os olhos dele, “é preciso abri-la e puxá-la em sua direção. Quando você faz isso, muda o ângulo da luz que a atravessa.” Paola percebeu que ele estava
acompanhando e prosseguiu: “Então você limpa a janela ou pensa que limpou. No entanto, ao fechá-la, a luz a atravessa a partir do ângulo original e então você constata que o lado de fora ainda está sujo
ou que não notou uma mancha do lado de dentro. Isso significa que você tem de abrir a janela e limpá-la de novo. Só que não pode ter certeza de que ela ficou realmente limpa até voltar a fechá-la ou até
sair de onde está para observá-la de um ângulo diferente”.
“E o espelho?”
Paola o encarou e sorriu. “Vemos o espelho somente de um lado. Nenhuma luz vem de trás e assim quando limpamos o espelho ele fica limpo de uma vez por todas. Não há nenhum truque de percepção.” Ela voltou
para as suas ervilhas.
“E?”
Sem tirar os olhos das ervilhas e talvez para disfarçar que tinha ficado decepcionada com ele, Paola explicou: “O seu trabalho é assim, ou é assim que você quer que ele seja. Você quer limpar espelhos,
quer que tudo seja bidimensional e fácil de lidar. No entanto, cada vez que você olha para determinada coisa, ela acaba sendo igual à janela. Se você muda de perspectiva, ou se olha a partir de um novo
ângulo, tudo se modifica”.
Brunetti pensou naquilo durante um longo momento e disse, esperando tornar a conversa mais leve: “Em ambos os casos eu sempre vou ter de limpar a sujeira”.
“É você quem diz. Eu não falei nada.” Como ele não respondeu, Paola pôs os últimos grãos de ervilha na tigela, levantou-se e foi até o balcão da cozinha. “O que quer que você precise fazer, imagino que
prefira fazê-lo com o estômago cheio”, ela disse.
Com o estômago realmente cheio, Brunetti começou a fazer o que devia ter feito logo depois do almoço, quando voltou para a questura. Não havia nada melhor do que uma conversa com a signorina Elettra.
Ela o recebeu com um sorriso, vestida numa sedutora roupinha de inspiração naval: saia azul-marinho e blusa de seda, decotada no formato de meia-lua. Brunetti se surpreendeu pensando que a única coisa
que faltava à signorina era um chapeuzinho de marinheiro, até notar um gorrinho cilíndrico ao lado do computador.
“Volpato”, disse, antes que ela perguntasse como ele ia passando. “Angelina e Massimo. Ambos estão na casa dos sessenta anos.”
Ela pegou uma folha de papel e começou a anotar.
“Eles são de Veneza?”
“Creio que sim.”
“Tem ideia de onde moram?”
“Não.”
“É muito fácil verificar. Que mais?”
“O que eu quero, acima de tudo, são registros financeiros: contas bancárias, quaisquer investimentos que eles possam ter feito, propriedades que estejam em nome deles, qualquer coisa que a senhorita possa
encontrar.” Ele fez uma pausa, enquanto a signorina continuava a anotar, depois acrescentou: “Verifique se temos algo mais sobre eles”.
“Registros telefônicos?”
“Não, ainda não, somente assuntos financeiros.”
“E para quando?”
Brunetti olhou para a signorina e sorriu. “A senhorita bem sabe como sou apressado.”
Ela puxou a manga e consultou o pesado relógio de pulso à prova d’água. “Devo conseguir as informações das repartições da prefeitura até o fim da tarde.”
“A essa hora os bancos já estão fechados e eu posso esperar até amanhã.”
Ela ergueu os olhos para ele e sorriu. “Registros não fecham nunca. Teremos as informações daqui a algumas horas.”
A signorina se inclinou, abriu uma gaveta e dela tirou uma pilha de papéis. “Tenho isto aqui”, ela começou a dizer, mas se interrompeu subitamente e olhou para a esquerda, na direção da porta de seu escritório.
Brunetti mais sentiu do que viu um movimento e, ao virar-se, notou a presença do vice-questore Patta, que vinha do almoço.
“Signorina Elettra”, ele disse, sem demonstrar que tinha notado a presença de Brunetti, que continuava em pé, diante da mesa da secretária.
“Sim, dottore?”
“Gostaria que a senhorita fosse ao meu escritório para eu lhe ditar uma carta.”
“É claro, dottore”, ela disse, pondo no centro da mesa os papéis que acabara de tirar da gaveta e apontando para eles com um dedo da mão esquerda, um gesto que o corpo de Brunetti impediu Patta de perceber.
Abriu a última gaveta e dela tirou uma antiquada prancheta de estenografia. Ainda havia gente que ditava cartas, ainda havia secretárias que ficavam sentadas, com as pernas cruzadas ao estilo de Joan Crawford,
anotando rapidamente as palavras por meio de pequenos rabiscos e cruzes? Enquanto pensava naquilo, Brunetti se deu conta de que sempre tinha deixado a signorina Elettra decidir como melhor redigir uma
carta, confiava nela para escolher a elaboração retórica correta, mediante a qual disfarçaria coisas simples ou facilitaria o caminho para solicitações que ultrapassassem os limites estritos do poder da
polícia.
O vice-questore passou por ele, abriu a porta do seu escritório e Brunetti sentiu nitidamente que ele próprio estava se comportando como um daqueles tímidos animais da floresta, talvez um lêmure, que se
imobilizava diante do menor ruído, declarando-se invisível graças à imobilidade e assim se acreditando a salvo de qualquer predador. Antes que pudesse dirigir a palavra à signorina Elettra, ela se levantou
para seguir Patta, mas antes deu uma olhada nos papéis que estavam na mesa. Quando ela fechou a porta, Brunetti não notou qualquer sugestão de timidez na atitude dela.
Ele se aproximou da mesa, pegou a papelada e escreveu rapidamente um bilhete, pedindo à signorina que localizasse o nome do proprietário da casa situada em frente ao imóvel onde Rossi havia sido encontrado.
18.
A caminho do escritório, Brunetti deu uma olhada nos papéis que tinham ficado na mesa da signorina Elettra: uma longa lista de todos os telefonemas dados da residência de Rossi e do escritório dele. Ela
anotara, à margem, que o nome de Rossi não constava, como cliente, de nenhuma das companhias telefônicas que operavam com telefones móveis, o que sugeria que ele havia dado telefonemas em um aparelho cedido
a ele pelo Ufficio Catasto. Quatro dos telefonemas dados de seu escritório tinham o mesmo número, o código era de Ferrara e Brunetti achou que era o número do escritório de Gavini e Cappelli. Assim que
entrou em sua sala conferiu-o e constatou que não se enganara. Os telefonemas tinham sido dados havia menos de duas semanas e o último deles na véspera de Cappelli ser assassinado. Depois daquele dia não
havia mais nenhuma ligação.
Brunetti ficou sentado durante um bom tempo, pensando na conexão entre os dois mortos. Percebeu que agora já os tomava como os dois assassinados.
Enquanto aguardava a signorina Elettra, ocorreram-lhe muitas reflexões: a localização do escritório de Rossi no Ufficio Catasto e qual o grau de privacidade de que ele dispunha; a designação do Magistrato
Righetto para conduzir a investigação do assassinato de Cappelli; a possibilidade de que um assassino profissional tivesse confundido outro homem com sua vítima e por qual motivo, após o crime, não houve
tentativa alguma de eliminar a pessoa certa. Brunetti pensou nisso, em outras coisas e em seguida voltou a ler a lista das pessoas capazes de lhe fornecer informações, mas parou ao constatar que não sabia
bem qual espécie de informação queria. Certamente necessitava saber mais sobre os Volpato, mas precisava também conhecer melhor o tráfico financeiro que operava na cidade e os processos secretos mediante
os quais o dinheiro fluía e saía das mãos de seus cidadãos.
Como a maioria dos moradores de Veneza, sabia que os registros de aquisição e transferência de títulos de propriedade eram mantidos no Ufficio Catasto. Fora isso, era vago seu conhecimento de como a instituição
operava. Recordou-se do entusiasmo de Rossi, quando ele disse que vários departamentos estavam unificando seus registros, numa tentativa de poupar tempo e de simplificar a recuperação das informações.
Agora se arrependia de não ter pedido mais detalhes a Rossi.
Abriu a gaveta, pegou a lista telefônica, foi direto para a letra B e percorreu-a detidamente, à procura de um número. Ao encontrá-lo, discou e esperou até uma mulher atender: “Imobiliária Bucintoro, boa
tarde”.
“Ciao, Stefania”, ele disse.
“O que foi, Guido?”, ela perguntou, deixando-o um pouco perturbado. Por acaso ela teria notado algo de estranho em sua voz?
Ele foi direto ao ponto: “Preciso de algumas informações”.
“E por qual outro motivo você me telefonaria?”, ela disse, sem aquele tom de flerte que costumava adotar sempre que falava com Brunetti.
Ele preferiu ignorar a crítica silenciosa no tom de voz dela e a crítica aberta daquela pergunta. “Preciso me informar sobre o Ufficio Catasto.”
“Como assim?”, disse Stefania em voz alta, artificialmente confusa.
“Ufficio Catasto”, ele repetiu. “Preciso saber o que eles fazem exatamente, quem trabalha nele e em quem se deve confiar.”
“É um pedido e tanto.”
“É por isso que estou telefonando para você.”
Ela retomou subitamente o tom de flerte. “E eu sentada aqui todos os dias, esperando que você me telefonasse e pedisse outra coisa…”
“O quê, meu tesouro? Basta dizer.” Ele usou um tom de voz que lembrava Rodolfo Valentino. Stefania era muito bem casada e mãe de gêmeos.
“A compra de um apartamento, é claro.”
“Talvez eu tenha que fazer isso”, ele declarou, subitamente sério.
“Por quê?”
“Fui informado que nosso apartamento será condenado.”
“Como assim, condenado? O que isso significa?”
“Que talvez tenhamos de demoli-lo.”
Um segundo após dizer aquilo, Brunetti ouviu a gargalhada de Stefania, mas não tinha certeza se o motivo era o patente absurdo da situação ou a surpresa dela pelo fato de ele considerá-la algo fora do
comum. Assim que parou de rir ela disse: “Você não está falando sério”.
“A sensação que eu tenho é essa mesmo. Mas uma pessoa do Ufficio Catasto expôs para mim a situação exatamente nesses termos. Eles não conseguiram localizar nem o registro de construção do apartamento e
muito menos o alvará e, assim sendo, podem decidir que o apartamento deve ser demolido.”
“Você deve ter entendido mal.”
“A pessoa parecia estar bem informada.”
“Quando foi que isso aconteceu?”
“Há alguns meses.”
“E você não soube de mais nada?”
“Não. É por isso que estou te telefonando.”
“Mas por que não telefona para eles?”
“Queria conversar com você antes de telefonar.”
“Por quê?”
“Para saber quais são meus direitos e quem são as pessoas que tomam as decisões no Ufficio Catasto.”
Stefania não respondeu e ele perguntou: “Você sabe quem se encarrega disso?”.
“Não sei muito mais do que alguém que trabalha no ramo imobiliário.”
“E quem são as pessoas?”
“Fabrizio dal Carlo é o chefão, ele é que manda no Ufficio.” Ela acrescentou, em tom de desprezo: “Não passa de um arrogante. Ele tem um assistente, Esposito, mas é como se ele não existisse, pois Dal
Carlo monopoliza tudo. Há também a signorina Dolfin, Loredana, cuja existência — pelo menos assim me disseram — se baseia inteiramente em duas motivações. A primeira é não deixar ninguém esquecer que embora
não passe de uma secretária no Ufficio Catasto, ela é descendente do Doge Giovani Dolfin”. Stefania acrescentou, como se aquilo tivesse importância: “Esqueci quando ele foi Doge”.
“Foi Doge de 1356 até 1361, quando morreu na grande epidemia de praga”, informou Brunetti sem a menor necessidade, perguntando em seguida: “E qual é a segunda motivação?”.
“Disfarçar sua adoração por Fabrizio dal Carlo. Disseram que ela acerta muito mais quando se trata da primeira motivação. Dal Carlo a faz trabalhar como uma escrava. Provavelmente é isso que ela quer.
Como é possível que alguém sinta algo por aquele sujeito, a não ser desprezo? Para mim é um mistério.”
“Mas existe alguma coisa entre eles?”
Stefania voltou a gargalhar. “Pelo amor de Deus, ela tem idade para ser mãe dele. Além disso ele é casado, tem uma amante e assim sobra muito pouco tempo para a signorina Dolfin, mesmo que ela não fosse
feia que só.” Stefania pensou no que acabava de dizer e continuou: “É patético. Ela desperdiçou anos da vida dela fazendo esse papel de criada leal daquele Romeu de terceira categoria, provavelmente esperando
que um dia ele percebesse o quanto ela o ama, e caísse de quatro ao constatar que uma Dolfin estava apaixonada por ele. Meu Deus, que desperdício! Seria cômico se não fosse trágico”.
“Do jeito que você fala parece que todo mundo tem conhecimento disso.”
“E tem, sim! Pelo menos todo mundo que trabalha com os dois.”
“E chegam a saber que ele tem outras mulheres?”
“Bom, já isso deveria ser segredo.”
“E não é?”
“Não. Nada é segredo, né? Pelo menos aqui.”
“Imagino”, disse Brunetti, agradecendo em silêncio que as coisas fossem assim. “Mais alguma coisa?”
“Não, nada que me ocorra, mais nenhuma fofoca. Acho apenas que você deveria telefonar para eles e perguntar que história é essa sobre seu apartamento. Pelo que ouvi, a ideia de unificar todos os registros
foi apenas uma cortina de fumaça. Jamais vai sair do papel.”
“Cortina de fumaça para quê?”
“Me disseram que alguém da administração da prefeitura decidiu que muitas obras de restauro feitas nos últimos anos eram ilegais. As discrepâncias eram tantas em relação às plantas originais que seria
melhor dar um sumiço nos requerimentos e nos alvarás concedidos. Desse jeito ninguém jamais poderia conferir as plantas com aquilo que de fato foi feito. Foi por isso que tiveram a ideia de fazer o projeto
de unificar os registros.”
“Acho que não estou entendendo muito bem, Stefania.”
“É simples, Guido”, ela disse demonstrando certa impaciência. “Com toda essa papelada sendo transferida de um departamento para outro, sendo enviada de um lado para outro da cidade, é inevitável que deem
sumiço em parte dos documentos.”
Brunetti achou aquilo inventivo e eficiente. Recorreria àquela informação como uma explicação que poderia fornecer para a inexistência da planta de seu apartamento, caso recebesse o comunicado de que deveria
apresentá-la. “Stefania, assim sendo, se acaso fossem feitas perguntas sobre a construção de uma parede ou a presença de uma janela, o proprietário precisaria apenas apresentar a devida planta e…”
Ela o interrompeu. “O que, é claro, corresponderia perfeitamente à atual estrutura da residência.”
“E na ausência das plantas oficiais, convenientemente extraviadas durante a centralização dos arquivos”, Brunetti começou a falar, ouvindo um murmúrio de aprovação de Stefania, contente porque ele tinha
começado a entender, “não haveria como qualquer inspetor da prefeitura ou futuro comprador ter certeza de que os restauros feitos são diferentes daqueles que foram solicitados e aprovados nas plantas perdidas.”
Quando acabou, ele por assim dizer se afastou em silêncio para admirar o que havia descoberto. Desde que era criança ouvia as pessoas dizerem, em relação a Veneza: “Tutto crolla, ma nulla crolla”. Parecia
ser verdade: mais de mil anos haviam passado desde que surgiram as primeiras edificações naquelas terras pantanosas e com toda a certeza muitas corriam o risco de desabar, o que jamais aconteceu. Elas
se inclinavam, se entortavam, se encurvavam, mas ele não se lembrava de ouvir falar de uma construção que tivesse desmoronado. É claro que viu edificações abandonadas, com telhados desabados, casas cercadas
por tapumes, com paredes em ruínas, mas ele jamais tomou conhecimento de que uma edificação tivesse desabado em cima de seus moradores.
“E de quem foi essa ideia?”, ele perguntou.
“Não sei”, disse Stefania. “Ninguém descobre.”
“E as pessoas que trabalham nos vários departamentos têm conhecimento disso?”
Em vez de dar uma resposta direta, Stefania disse: “Pense nisso, Guido. Alguém precisará verificar que alguns daqueles documentos desapareceram, que fichas se perderam, e com toda a certeza muita papelada
vai se extraviar, por causa da incompetência de sempre. No entanto, alguém deveria conferir que certos documentos específicos deixaram de existir.”
“E quem haveria de querer isso?”
“Muito provavelmente os proprietários das casas onde foram realizadas obras ilegais ou talvez as pessoas encarregadas de verificar os restauros e que se omitiram.” Ela fez uma pausa e continuou: “Ou que
verificaram e foram convencidas” — Stefania enfatizou ironicamente a última palavra — “a aprovar o que viram, independente do que estava desenhado nas plantas”.
“E quem é essa gente?”
“As Comissões de Edificações.”
“São quantas?”
“Uma para cada sestiere, seis ao todo.”
Brunetti imaginou a abrangência daquele encargo, quantas pessoas exigiria. “Não seria mais fácil para os proprietários ir adiante com as reformas e então pagar uma multa quando se descobrisse que algo
não estava em conformidade com as plantas que eles apresentaram? Não seria melhor do que subornar alguém para tratar de destruir as plantas? Ou dar o sumiço nelas”, ele retificou.
“Era assim que as pessoas agiam no passado, Guido. Agora que estamos envolvidos com esse troço de União Europeia, eles obrigam a pessoa a pagar multa, mas também obrigam a desfazer o que foi feito e fazer
tudo de novo de acordo com as normas legais. As multas são terríveis. Tive um cliente que acrescentou uma altana ilegal que nem chegava a ser grande, media dois metros por três, mas o vizinho denunciou.
A multa foi de quatro milhões de liras, Guido, e além disso ele foi obrigado a demolir a altana. Antes, ele pelo menos poderia ter deixado ela ali. Uma coisa eu digo: essa história de a gente se envolver
com a Europa não vai dar certo. Logo a gente não vai encontrar ninguém com coragem para aceitar uma propina.”
Embora percebesse a indignação moral com que ela se expressava, Brunetti viu que não estava exatamente de acordo com ela. “Steffi, você se referiu a muita gente, mas quem acha que teria mais chances de
resolver esse assunto?”
“As pessoas do Ufficio Catasto”, ela respondeu no mesmo instante. “E caso exista um processo, Dal Carlo vai tomar conhecimento e meu palpite é que ele vai meter o bedelho. Afinal de contas, todas as plantas
precisam passar pelo setor dele em algum momento e para ele vai ser moleza destruir os papéis que ele quiser.” Stefania pensou um pouco e acrescentou: “Você está pensando em fazer algo assim, Guido, se
livrar das plantas?”.
“Já disse que as plantas não existem. Foi disso que me acusaram.”
“Mas se elas não existem, então você pode alegar que elas foram perdidas com as outras plantas que estão se perdendo por aí.”
“Mas como é que eu provo que meu apartamento existe, que ele foi construído de fato?” No momento em que fez essa pergunta, Brunetti percebeu o quanto tudo aquilo era absurdo: como é que uma pessoa poderia
provar a existência da realidade?
A resposta de Stefania foi imediata. “Tudo o que você precisa fazer é encontrar um arquiteto que desenhe as plantas para você.” Antes que Brunetti a interrompesse e formulasse a pergunta óbvia, ela respondeu:
“Faça com que ele ponha uma data falsa nas plantas”.
“Stefania, estamos falando do que aconteceu há cinquenta anos.”
“De modo algum. Basta você alegar que realizou os restauros há alguns anos, providenciar para que as plantas sejam desenhadas de acordo com a configuração do apartamento tal como ele é hoje, e pôr uma
data nelas.” Brunetti não conseguiu pensar numa resposta e ela prosseguiu: “Na verdade é muito simples. Se quiser, posso dar o nome de um arquiteto que faz isso para você. Não existe nada mais fácil, Guido”.
Stefania tinha sido tão prestativa que ele não quis ofendê-la e então disse: “Preciso saber qual é a opinião de Paola”.
“Mas é claro. Que cabeça a minha. Está no papo. Tenho certeza de que o pai dela conhece pessoas que podem dar um jeito no assunto. Então você nem vai precisar se dar ao trabalho de conseguir um arquiteto.”
Stefania não prosseguiu. Para ela o problema estava resolvido.
Brunetti estava pronto para responder, mas ela se antecipou: “Estou recebendo um telefonema na outra linha. Tomara que seja alguém querendo comprar um imóvel. Ciao, Guido”. Em seguida ela desligou.
Ele pensou durante algum tempo na conversa com Stefania. A realidade estava ali, maleável e obediente. Tudo o que uma pessoa precisava fazer era dar um empurrãozinho aqui, um jeitinho acolá e fazer com
que tudo se ajustasse da forma conveniente. Caso a realidade fosse intratável, então a pessoa simplesmente empunhava as grandes armas do poder, do dinheiro e abria fogo. Como era simples, como era fácil.
Brunetti percebeu que aquela linha de pensamento levava a lugares aos quais preferia não ir. Assim sendo, voltou a consultar a lista telefônica e discou o número do Ufficio Catasto. O telefone tocou várias
vezes, mas ninguém atendeu. Consultou o relógio, viu que eram quase quatro horas e desligou, dizendo a si mesmo que era um tolo por esperar encontrar alguém trabalhando lá àquela hora.
Afundou na cadeira e apoiou os pés na gaveta de baixo, que estava aberta. Cruzou os braços e voltou a pensar na visita de Rossi. Ele tinha cara de homem honesto, mas isso muita gente tinha, inclusive muitos
desonestos. Por que, ao invés de se limitar a enviar a carta oficial, ele foi em pessoa à casa de Brunetti? Mais tarde, quando telefonou, ele tomou conhecimento do posto de Brunetti. Veio-lhe à mente que
Rossi podia ter ido lá na intenção de receber uma propina, mas descartou a ideia: o homem era patentemente honesto, honesto até demais.
Ao constatar que o signor Brunetti que não conseguia encontrar as plantas de seu apartamento era um policial de alta patente, acaso Rossi não teria mergulhado a sua vara de pescar na correnteza da fofoca
para ver o que conseguia fisgar sobre ele? Ninguém ousaria ir em frente em qualquer assunto delicado sem fazer isso. O segredo consistia em saber a quem procurar, onde jogar a isca para apanhar as informações
necessárias. E acaso Rossi teria decidido abordá-lo munido daquilo que havia descoberto a respeito dele no Ufficio Catasto, quaisquer que fossem as fontes de informação?
A concessão de alvarás ilegais de construção, em troca das devidas propinas, parecia ser um item barato no vasto cardápio de corrupção oferecido pelas repartições oficiais. Brunetti achou impossível acreditar
que qualquer pessoa arriscaria muito, com certeza nunca a própria vida, caso ameaçasse delatar algum esquema engenhoso cujo objetivo era produzir um rombo nos cofres públicos. A implementação do projeto
de informatização para centralizar documentos e assim tirar do caminho aqueles que o tempo tornara inconvenientes aumentaria o montante das propinas, mas Brunetti duvidou que aquilo fosse o suficiente
para causar a morte de Rossi.
Suas reflexões foram interrompidas pela chegada da signorina Elettra, que entrou no escritório dele sem se incomodar de bater na porta. “Estou interrompendo o senhor?”, ela perguntou.
“Não, de modo algum. Eu estava à toa, pensando na corrupção.”
“Pública ou privada?”
“Pública”, ele disse, endireitando-se na cadeira.
“É como ler Proust”, ela opinou, impassível. “A gente acha que terminou de uma vez por todas e então descobre que há mais um volume. E mais outro, depois desse último.”
Brunetti encarou-a, esperando que ela continuasse, mas ela apenas disse, pondo alguns papéis sobre a mesa: “Aprendi a compartilhar suas suspeitas em relação a coincidências e assim gostaria que o senhor
desse uma olhada nos nomes dos proprietários daquele prédio”.
“Os Volpato?”, ele perguntou, sabendo de certa forma que não poderia ser diferente.
“Exatamente.”
“São proprietários há quanto tempo?”
A signorina se inclinou e abriu a terceira página da papelada. “Há quatro anos. Compraram-no de uma tal de Mathilde Ponzi. O preço declarado está aqui”, ela disse, apontando para uma cifra no lado direito
da página.
“Duzentos e cinquenta milhões de liras?” O espanto de Brunetti era visível. “O prédio tem quatro andares, cada apartamento deve medir pelo menos cento e cinquenta metros quadrados por andar.”
“É somente o preço declarado.”
Todo mundo sabia que para evitar impostos o valor de um imóvel declarado no contrato de venda jamais correspondia ao preço pago, ou, se correspondia, era de um jeito enviesado: o verdadeiro valor era duas
ou três vezes maior. Na realidade, todo mundo se referia ao valor “real” e ao valor “declarado” com a maior naturalidade. Apenas um ingênuo ou um estrangeiro pensariam que os valores eram os mesmos.
“Eu sei”, Brunetti afirmou. “Mesmo se eles tivessem pagado três vezes mais, ainda assim seria uma pechincha.”
“Se o senhor examinar as outras aquisições de propriedade que eles fizeram”, disse a signorina Elettra, pondo um tanto de aspereza naquele substantivo, “verificará que eles tiveram sorte semelhante na
maioria dos negócios imobiliários deles.”
Brunetti voltou para a primeira página e leu todas as informações. Com efeito, parecia que os Volpato conseguiam encontrar com frequência casas que custavam muito pouco. Prestativa, a signorina Elettra
se informara sobre o número de metros quadrados de cada “aquisição” e um cálculo rápido sugeriu a Brunetti que o casal pagava, em média, um preço declarado de menos de um milhão de liras por metro quadrado.
Mesmo levando em conta as variáveis criadas pela inflação e comissões na disparidade entre o preço declarado e o preço real, os Volpato ainda assim acabavam pagando muito menos do que um terço do preço
médio de um imóvel residencial em Veneza.
“Devo supor que as outras páginas contam a mesma história?”, ele perguntou, olhando para a signorina.
Ela confirmou.
“E quantas propriedades constam da lista?”
“Mais de quarenta e ainda nem comecei a examinar as outras propriedades em nome de outros Volpato que talvez sejam parentes.”
“Pois não”, disse Brunetti, voltando sua atenção para os papéis. Na última página a signorina acrescentara extratos bancários atualizados das contas individuais do casal, bem como os de inúmeras contas
conjuntas. “Como é que a senhorita consegue fazer isso”, ele começou a dizer, mas ao notar a súbita mudança da fisionomia dela, ao ouvir tais palavras, ele acrescentou: “com tamanha rapidez?”.
“Recorri a amigos. Devo verificar qual tipo de informação a Telecom pode fornecer sobre os telefonemas que eles deram?”
Brunetti concordou, certo de que ela já iniciara aquele procedimento. A signorina Elettra sorriu e se retirou. Brunetti voltou sua atenção para os papéis e as cifras. Elas eram nada menos do que assustadoras.
Relembrou a impressão que os Volpato lhe causaram: gente sem instrução, sem posição social, sem dinheiro. E, no entanto, de acordo com o que constava dos papéis, possuíam enorme riqueza. Se apenas metade
das propriedades estivesse alugada — e as pessoas não acumulavam apartamentos em Veneza para deixá-los vazios — então eles deveriam estar recebendo mensalmente vinte ou trinta milhões de liras, a mesma
quantia que muitas pessoas ganhavam durante um ano. Boa parte daquela riqueza estava depositada com toda a segurança em quatro bancos diferentes e uma quantia ainda maior estava investida em títulos do
governo. Brunetti pouco entendia dos procedimentos da Bolsa de Milão, porém sabia o suficiente para reconhecer os nomes das ações mais seguras, e os Volpato tinham investido nelas centenas de milhões de
liras.
Aquela gente maltrapilha: Brunetti visualizou a figura dos dois e se lembrou da alça gasta da bolsa de plástico da signora Volpato, dos remendos no sapato do marido, que mostravam a frequência com que
tinha sido consertado. Isso seria um disfarce para protegê-los dos olhos invejosos da cidade ou uma forma enlouquecida de avareza? E no meio de tudo aquilo, onde ele deveria encaixar o corpo ferido de
Franco Rossi, encontrado na frente de um prédio pertencente aos Volpato?
19.
Os pensamentos de Brunetti se voltaram para a cobiça, um vício para o qual os venezianos sempre tiveram uma inclinação natural. Desde o início La Serenissima foi um empreendimento comercial e assim a aquisição
da riqueza sempre foi incluída entre os mais elevados objetivos a que um veneziano poderia aspirar. Ao contrário daqueles sulistas dissipados, romanos e florentinos, que ganhavam dinheiro a fim de esbanjá-lo,
que se deliciavam em jogar em seus rios taças e baixelas de ouro no afã de exibir publicamente sua riqueza, os venezianos, desde cedo, aprenderam a adquirir e conservar, guardar, juntar e acumular. Aprenderam
também a manter ocultas suas riquezas. Certamente os suntuosos palazzi à beira do Canal Grande não denotavam riquezas escondidas, muito ao contrário. Tratava-se, porém, dos Mocenigo, dos Barbaro, famílias
tão generosamente abençoadas pelos deuses do lucro que seria vã qualquer tentativa de disfarçar a riqueza. A fama os protegia da doença da cobiça.
Seus sintomas eram muito mais evidentes em famílias de menor posição social, os gordos comerciantes que construíam seus palazzi mais modestos nos canais menos visíveis, em cima de suas lojas e armazéns,
para que eles, à semelhança de aves que chocam em seus ninhos, pudessem viver em estreito contato com sua riqueza. Ali eles podiam aquecer o coração com o brilho das especiarias e dos trajes importados
do Oriente, aquecer em segredo, sem jamais dar a ver aos vizinhos o que estava por detrás das grades dos portões que se abriam para as águas.
Ao longo dos séculos essa tendência a acumular desceu pela escala social e criou fundas raízes na população em geral. Muitos nomes a designavam — economia, prudência, frugalidade. O próprio Brunetti fora
educado para valorizar todas elas. No entanto, em sua forma mais exagerada, ela não passava de incansável e impiedosa avareza, doença que devastava não apenas a quem dela padecia, mas todos os que entravam
em contato com a pessoa infectada.
Brunetti se lembrou de um fato ocorrido quando ainda era um jovem detetive e fora convocado para servir de testemunha na abertura da casa de uma velha senhora. Ela morrera durante o inverno na enfermaria
de um hospital e sua doença fora agravada pela desnutrição e pela debilidade física inevitável depois de longa exposição ao frio. Três policiais foram até o endereço que constava de sua carteira de identidade.
Quebraram a fechadura e entraram. Era um apartamento de mais de duzentos metros quadrados, sórdido, fedendo a dejetos de gato. Os cômodos eram repletos de caixas cheias de jornais velhos, em cima das quais
se empilhavam trapos e roupas descartadas, tudo enfiado em sacos plásticos. Um dos cômodos estava tomado por garrafas de todos os tipos: de vinho, de leite e pequenos vidros de remédio. Outro tinha um
guarda-roupa florentino do século XV que depois foi avaliado em cento e vinte milhões de liras.
Embora fosse fevereiro, não havia aquecimento. Não que ele estivesse desligado, simplesmente não existia sistema de aquecimento na casa. Dois policiais foram designados para procurar papéis que pudessem
ajudar a localizar parentes da velha senhora. Brunetti, ao abrir uma gaveta no quarto dela, encontrou um maço de notas de cinquenta mil liras amarradas com um barbante sujo e seu colega localizou na sala
de estar uma pilha de extratos bancários, cada um deles com mais de cinquenta milhões de liras depositadas.
Àquela altura eles se retiraram do apartamento, lacraram a porta de entrada e notificaram a Guardia di Finanza para que ela comparecesse e tomasse as devidas providências. Mais tarde Brunetti soube que
a velha senhora, morta sem testamento, sem parentes, tinha deixado mais de quatro bilhões de liras. Na ausência de parentes sobreviventes, a fortuna coube ao Estado italiano.
O melhor amigo de Brunetti dizia com frequência querer que a morte o levasse no exato momento em que ele deixasse sua última lira no balcão de um bar e dissesse: “Prosecco para todo mundo”. E foi quase
assim que aconteceu. O destino lhe concedeu quarenta anos a menos do que àquela senhora, mas Brunetti sabia que a vida de seu amigo tinha sido melhor e sua morte também.
Ele se livrou daquelas recordações e tirou da gaveta a lista de escalas diárias. Sentiu-se aliviado ao constatar que Vianello tinha sido destacado para o plantão noturno naquela semana. O sargento estava
em casa, ocupado em pintar a cozinha, e ficou muito contente ao ser solicitado para se encontrar com Brunetti no Ufficio Catasta, às onze da manhã do dia seguinte.
Brunetti, como quase todo cidadão do país, não tinha amigos na Guardia di Finanza e nem queria tê-los. Precisava, porém, ter acesso a informações sobre os Volpato. Somente a Finanza, encarregada de se
intrometer nos segredos fiscais dos cidadãos, teria uma ideia precisa do montante da enorme riqueza dos Volpato que fora declarado e portanto taxado. Em vez de se dar ao trabalho de tentar descobrir o
processo burocrático correto para solicitar tal informação, ele telefonou para a signorina Elettra e perguntou se ela poderia acessar os arquivos da Finanza.
“Ah, a Guardia di Finanza”, ela respirou fundo, sem fazer a menor tentativa de disfarçar o enlevo com que acolheu o pedido de Brunetti. “Venho desejando há muito tempo que alguém me encarregue desta incumbência.”
“Mas a signorina não faria isso por conta própria?”
“Não, ora”, ela respondeu, surpresa com uma pergunta daquelas. “Isso seria meio que uma bisbilhotice, não?”
“E se eu lhe pedir?”
“Vai ser uma tarefa e tanto.” Ela suspirou e desligou.
Brunetti telefonou para a equipe de investigação criminal e perguntou quando receberia o relatório sobre o prédio onde o corpo de Rossi tinha sido encontrado. Após alguns minutos de espera, comunicaram-lhe
que a equipe tinha ido ao local, mas ao constatar que operários de construção voltaram a trabalhar lá, tinha decidido que o prédio estava comprometido demais para poder fornecer quaisquer dados precisos
e assim todos voltaram para a questura sem fazer inspeções.
Brunetti estava a ponto de deixar para lá mais aquele fracasso produzido pela falta generalizada de interesse e iniciativa, mas ocorreu-lhe uma pergunta: “Quantos operários estavam lá?”.
Pediram-lhe que aguardasse e dali a pouco um dos membros da equipe se apresentou do outro lado da linha: “Sim, commissario?”.
“Quando vocês foram até o prédio quantos operários se encontravam lá?”
“Eu vi dois no terceiro andar.”
“E tinha gente trabalhando nos andaimes?”
“Não vi ninguém, não senhor.”
“Então eram só os dois mesmo?”
“Sim.”
“E onde eles estavam?”
“Na janela.”
“Onde estavam quando vocês chegaram?”
O policial precisou pensar um pouco antes de responder: “Eles foram até a janela no momento em que batemos com toda a força na porta de entrada”.
“Conte exatamente o que aconteceu.”
“Tentamos abrir a fechadura, batemos na porta, um deles pôs a cabeça para fora da janela e perguntou o que queríamos. Pedone disse a eles quem éramos, por que estávamos lá e o sujeito respondeu que eles
estavam trabalhando no prédio já fazia dois dias, e por isso tinha muito pó, muita sujeira e nada mais estava do mesmo jeito. Outro cara apareceu e também ficou ali. Não disse nada, mas estava coberto
de pó e ficou evidente que eles estavam trabalhando lá.”
Fez-se um silêncio prolongado e finalmente Brunetti perguntou: “E então?”.
“Então Pedone fez uma pergunta sobre as janelas, bem, diante das janelas, pois era isso que tínhamos que verificar, não é mesmo?”
“Sim”, concordou Brunetti.
“O sujeito disse que eles tinham içado sacos de cimento através das janelas durante todo o dia então Pedone viu que seria perda de tempo.”
Brunetti fez outra pequena pausa antes de perguntar: “Como é que eles estavam vestidos?”.
“O quê?”
“Como estavam vestidos? Como operários?”
“Não sei dizer ao senhor. Eles estavam lá na janela do terceiro andar e olhávamos para eles lá de baixo. Só dava para ver os ombros e a cabeça deles.” Ele pensou no que acabava de dizer e acrescentou:
“Acho que aquele sujeito com quem a gente falou estava de paletó.”
“Mas então por que você achou que ele era um operário?”
“Porque ele disse que era. Além disso, por qual outro motivo ele estaria no prédio?”
Brunetti sabia muito bem por que aqueles homens estavam no prédio, mas achou prudente ficar de boca fechada. Estava para ordenar ao policial que fosse em frente e fizesse uma inspeção decente da cena do
crime, mas mudou de ideia. Agradeceu as informações e desligou o telefone.
Dez anos antes, uma conversa como aquela deixaria Brunetti espumando de raiva. Agora, porém, ela não era mais que mera confirmação da pobre conta em que tinha seus colegas. Nos momentos mais sombrios ele
se punha a imaginar se muitos deles estariam a soldo da Máfia, mas sabia que aquele incidente nada mais era do que outro exemplo da incompetência endêmica e da falta de interesse. Ou talvez fosse uma manifestação
do que ele próprio sentia: uma convicção cada vez mais profunda de que qualquer tentativa de obstruir, impedir ou punir o crime estava destinada ao fracasso.
Em vez de permanecer na segurança de seu escritório, Brunetti trancou na gaveta os papéis sobre os Volpato e saiu. O dia tentava seduzi-lo com as artimanhas da beleza: os pássaros cantavam sem parar, o
cheiro adocicado das glicínias atravessava o canal e chegava até ele, um gato se aproximou e se enroscou em suas pernas. Ele se abaixou e coçou o gato, atrás das orelhas, decidindo o que fazer.
Ao chegar à riva, subiu no vaporetto que ia até a estação, desceu em San Basilio, seguiu para Angelo Raffaele e a estreita calle onde o corpo de Rossi caíra. Logo viu a casa, mas não notou movimento. Nenhum
operário se encontrava nos andaimes e as persianas das janelas estavam fechadas. Brunetti se aproximou da casa e examinou detidamente a porta. A pequena corrente de metal ainda estava no cadeado, mas os
parafusos que fixavam a borda metálica na porta estavam soltos e assim era muito fácil entrar. Empurrou a porta que, mal ele entrou, voltou a se fechar.
Curioso, quis ver se conseguiria fazer aquilo novamente. Sim, os parafusos poderiam ser colocados de volta nos orifícios e a corrente era comprida o suficiente para que a porta permanecesse aberta enquanto
ele os manejava. Depois que fechou a porta, sentiu-se seguro. A casa, vista do lado de fora, parecia trancada.
Ele se virou e descobriu que estava num corredor, ao fim do qual havia uma escada, que ele se apressou em subir. Os degraus de pedra não emitiam som algum sob seus passos, enquanto ele seguia até o terceiro
andar.
Ao chegar parou alguns instantes para se orientar, confuso por ter dobrado tantas vezes a escada em espiral. Um pouco de luminosidade se infiltrava à esquerda e assim ele concluiu que ela vinha da frente
da casa, para onde seguiu.
Brunetti ouviu um som que vinha de cima, abafado, suave, mas definitivamente um som. Ficou tenso e imaginou onde havia deixado seu revólver aquela vez: trancado na caixa de metal, em casa, no cofre, na
polícia, ou no bolso do paletó que deixara dependurado no armário do escritório. Era inútil pensar onde o revólver poderia estar quando tinha plena certeza de onde ele não estava.
Esperou, respirando pela boca, e teve a nítida sensação de que havia alguma espécie de presença acima dele. Quase tropeçou numa garrafa de plástico vazia, foi até uma porta, à direita, e ali ficou, bem
escondido. Consultou o relógio: seis e trinta. Em breve começaria a escurecer lá fora. Ali dentro a escuridão só era atenuada pela luz que vinha da frente da casa.
Esperou: Brunetti era bom nisso. Ao consultar novamente o relógio, haviam passado cinco minutos. Ouviu mais uma vez o som que vinha de cima, um pouco mais próximo e mais distinto. Uma longa pausa e então
o som estava mais próximo ainda, dessa vez era o som inconfundível de passos nos degraus de madeira, e vinha do sótão.
Esperou. A luz tênue transformava a escadaria numa névoa indistinta, onde ele só conseguia perceber o vazio. Olhou para a esquerda e percebeu o fantasma cinza de uma presença que descia a escada. Fechou
os olhos e diminuiu a respiração. Quando ouviu outro som, que parecia vir do andar onde ele estava, abriu os olhos, percebeu uma forma mais do que vaga, deu um passo adiante e gritou o mais alto que pôde:
“Pare! Polícia!”.
Ouviu-se um berro de puro terror animal e então aquilo, fosse o que fosse, caiu no chão, aos pés dele, e continuou a emitir um ruído penetrante, agudo, que eriçou os curtos fios de cabelo na nuca de Brunetti.
Cambaleando, ele foi até a frente da casa, abriu uma janela e as persianas de madeira para que a luz declinante do dia entrasse na sala. Ainda ofuscado, se voltou e caminhou até a porta, de onde o ruído
ainda vinha, agora mais baixo, menos aterrorizado e mais humano.
No instante em que o viu ali, todo encolhido no chão, os braços dobrados em torno do corpo magro, como se quisesse se proteger dos habituais pontapés e socos, o pescoço enfiado entre os ombros, Brunetti
reconheceu o rapaz. Fazia parte de um trio de drogados, todos com vinte e poucos anos, que fazia anos passavam os dias no campo Bartolo ou perto dele, de bar em bar, cada vez mais fora da realidade, dia
após dia, ano após ano. Aquele era o mais alto de todos, Gino Zecchino, frequentemente detido por tráfico e muitas vezes por assaltos ou por ameaças a estrangeiros. Fazia quase um ano que Brunetti não
via o rapaz e ficou espantado com sua deterioração física. Seu cabelo escuro estava comprido, seboso, sem dúvida um tanto desagradável ao tato, e os dentes da frente tinham desaparecido. O rosto encovado
sugeria que já ia longe o último dia em que comera alguma coisa. Era de Treviso, não tinha parentes na cidade e morava com os dois amigos atrás do campo San Polo, num apartamento que era um velho conhecido
da polícia.
“Dessa vez você se deu mal, Gino”, Brunetti disse aos gritos. “Levante-se e é para já.”
Zecchino reconheceu seu nome, mas não aquela voz. Parou de se lamuriar, voltou o rosto em direção ao som, mas não se mexeu.
“Eu disse que é para você se levantar!”, Brunetti gritou em veneziano, no tom mais irado possível. Olhou para Zecchino e mesmo com o pouco de luz que havia, notou as escaras no dorso de suas mãos, onde
ele tinha tentado encontrar as veias e picar-se. “Levante-se antes que eu te dê um pontapé na bunda e você role escada abaixo.” Brunetti estava empregando a linguagem que ouvira a vida toda nos bares e
nas celas das delegacias de polícia, qualquer coisa que mantivesse a adrenalina do medo latejando nas veias de Zucchino.
O rapaz se virou para Brunetti, com o corpo ainda protegido pelos braços e os olhos fechados.
“Olhe para mim quando falo com você”, Brunetti ordenou.
Zecchino, com muita dificuldade, se encostou na parede e com os olhos semicerrados levantou a cabeça em direção a Brunetti, que nas sombras parecia mais alto do que era. Num gesto simples, fluido, ele
se debruçou sobre o rapaz, agarrou duas abas de seu paletó e puxou-o, deixando-o em pé, com uma facilidade que o surpreendeu.
Quando Zecchino ficou suficientemente próximo de Brunetti para reconhecê-lo, arregalou os olhos, aterrorizado, e se pôs a recitar: “Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada”.
Brunetti puxou o rapaz para si, sem parar de gritar: “O que foi que aconteceu?”.
As palavras jorraram da boca de Zecchino, impelidas pelo medo: “Ouvi vozes lá embaixo. Era uma discussão e as pessoas estavam dentro da casa. Pararam um pouco e recomeçaram, mas eu não vi elas. Eu estava
aqui em cima”, ele disse, apontando para a escada que levava ao sótão.
“Mas o que foi que aconteceu?”
“Não sei. Ouvi o barulho das pessoas subindo pra cá, aos berros. Então minha namorada me ofereceu um pouquinho de pó, dei uma cheirada e não sei o que aconteceu depois.” Olhou para Brunetti, curioso para
ver até que ponto ele acreditava naquela história.
“Fale mais, Zecchino”, disse Brunetti, quase colando o rosto no do rapaz e sentindo seu hálito, que denunciava dentes precários e anos de alimentação ruim. “Quero saber quem eram eles.”
Zecchino começou a falar, mas parou e olhou para o chão. Quando voltou a encarar Brunetti o medo desaparecera e seus olhos tinham uma expressão diferente. Algum cálculo secreto os enchera de astúcia selvagem.
“Ele estava lá fora quando eu fui embora, caído no chão”, Zecchino disse finalmente.
“Estava se mexendo?”
“Sim, estava se arrastando com os pés, mas não tinha…” Ele começou a falar, mas a astúcia o fez parar.
Zecchino dissera o suficiente. “Não tinha o quê?”, Brunetti perguntou. Quando o rapaz não respondeu, voltou a sacudi-lo, o que provocou um rápido soluço e secreção na manga do paletó de Brunetti, que então
foi obrigado a se soltar dele com um empurrão. Zecchino de novo estava caído contra a parede.
“Quem estava com você?”
“Minha namorada.”
“Por que vocês vieram para cá?”
“Para transar. A gente vem transar aqui sempre.” Brunetti quase sentiu repulsa.
“Quem eram eles?”, ele voltou a perguntar, dando meio passo em direção a Zecchino.
O instinto de sobrevivência foi mais forte que o pânico do rapaz e a vantagem de Brunetti desapareceu, evaporou tão rapidamente como um fantasma induzido pela droga. Ele se viu de pé diante daquele farrapo
humano, apenas alguns anos mais velho do que seu filho. Sabia que não tinha mais chances de arrancar a verdade de Zecchino. Achou insuportável a ideia de ele e aquele rapaz ficarem sob o mesmo teto, mas
se forçou a ir até a janela. Olhou para baixo e viu a calçada onde o corpo de Rossi tinha sido jogado e ao longo da qual ele tinha tentado se arrastar. Em torno da janela, uma área de pelo menos dois metros
de circunferência estava livre de detritos. Nem sinal de sacos de cimento; dentro, a mesma coisa. Como os supostos operários vistos naquela janela, tinham desaparecido, sem deixar vestígio.
20.
Após deixar Zecchino na calçada, Brunetti tomou o rumo de casa, mas não encontrou o menor consolo na suave tarde de primavera, nem na longa caminhada que se permitiu dar beirando os canais. Ela o desviaria
de sua rota, mas queria apreciar as vistas, o cheiro da água, o conforto de um copo de vinho tomado em um pequeno bar próximo da Accademia, para tirar da cabeça Zecchino, especialmente o modo como ele
havia se tornado furtivo e selvagem no fim do encontro dos dois. Pensou no que Paola dissera, que se considerava com sorte por não ter achado graça nenhuma nas drogas, caso contrário algo ruim poderia
ter acontecido. Ele não tinha uma cabeça tão aberta quanto a de Paola, por isso nunca tinha experimentado nada, nem mesmo na época de estudante, quando todo mundo em volta dele puxava fumo ou experimentava
outras coisas. Garantiam que era a maneira perfeita de liberar a mente dos sufocantes preconceitos de classe média. Quase não passava pela cabeça de ninguém quanto ele aspirava aos preconceitos de classe
média; na verdade, ele queria tudo bem estritamente classe média.
A lembrança de Zecchino não o abandonava, bloqueando seus pensamentos. Ao chegar à Ponte da Accademia, Brunetti hesitou um pouco, decidiu fazer um vasto círculo e atravessar o campo San Luca. Começou a
caminhar na ponte, sem tirar os olhos dos pés, e notou a quantidade de pedras quebradas ou lascadas que a calçavam. Quando é que a ponte tinha sido reconstruída? Três anos antes? Dois? E, no entanto, já
precisava de reformas. Seus pensamentos se desviaram de como aquele contrato tinha sido recompensado para o que Zecchino tinha contado antes de começar a mentir. Uma discussão. Rossi ferido e tentando
escapar. E uma garota disposta a subir até o esconderijo que Zecchino tinha no sótão e se entregar a um coquetel de drogas e de tudo mais que Gino Zecchino lhe propusesse.
Ao divisar o horror arquitetônico que era a sede da Cassa di Risparmio, ele dobrou à esquerda, passou pela livraria e atravessou o campo San Luca. Foi ao bar Torino e pediu um spritz. Tomou uns goles,
sentado à mesa junto à janela, estudando as pessoas que ainda estavam reunidas no campo.
Não havia o menor sinal nem da signora Volpato nem de seu marido. Acabou de tomar o spritz, pôs o copo no balcão do bar e deu algumas notas ao barman.
“Não estou vendo a signora Volpato”, ele disse casualmente, olhando na direção do campo.
O barman entregou a nota fiscal, o troco e disse: “Eles costumam vir aqui na parte da manhã, após as dez horas”.
“Preciso falar com ela sobre um assunto”, disse Brunetti, como quem está nervoso, mas sorrindo meio sem jeito para o barman, num apelo à sua compreensão da carência humana.
“Sinto muito”, disse o barman, indo atender outro cliente.
Ao sair do bar, Brunetti dobrou à esquerda duas vezes e entrou numa farmácia, que ia fechando.
“Ciao, Guido”, disse seu amigo Danilo, o farmacêutico, fechando a porta. “Daqui a pouco eu já estou liberado e a gente vai tomar um drinque.” Com a rapidez devida a uma longa prática, o homem barbudo esvaziou
o caixa, contou o dinheiro e levou-o para os fundos da farmácia, onde Brunetti podia ouvi-lo indo de lá para cá. Daí a alguns minutos ele surgiu, de paletó de camurça.
Brunetti sentiu o escrutínio de seus olhos castanhos, notou o início de um sorriso. “Você parece estar à procura de uma informação”, disse Danilo.
“Está tão na cara assim?”
Danilo deu de ombros. “De vez em quando você dá um pulo até aqui em busca de um remédio, com cara de preocupado. De vez em quando vem aqui para a gente tomar um drinque, então você está relaxado, mas quando
quer uma informação você vem aqui assim”, ele disse, juntando as sobrancelhas e olhando fixamente para Brunetti, com ar de quem está apresentando os primeiros sintomas de loucura.
“Va là”, disse Brunetti, sorrindo contrafeito.
“Do que se trata? Ou de quem se trata?”
Brunetti não fez menção de sair, pois achou melhor ter aquela conversa na farmácia fechada do que em um dos três bares do campo. “Angelina e Massimo Volpato”, disse finalmente.
“Madre di Dio”, Danilo exclamou. “Acho melhor você pegar dinheiro de mim. Venha.” Ele tomou Brunetti pelo braço e empurrou-o para a sala dos fundos da farmácia. “Vou abrir o cofre e depois falo que o ladrão
usava máscara, prometo!” Brunetti achou que era piada, mas Danilo continuou: “Você não está pensando em procurar aqueles dois, não é mesmo, Guido? Tenho dinheiro no banco à sua disposição e estou certo
de que o Mauro também tem algum”. Ele se referia ao dono da farmácia.
“Não, não”, disse Brunetti, com um gesto tranquilizador. “Eu só preciso de informações a respeito deles.”
“Não me diga que enfim eles deram um passo em falso e alguém apresentou queixa contra eles”, disse Danilo com meio sorriso. “Ah, mas que alegria!”
“Você conhece esse casal tão bem assim?”
“Conheço há anos”, ele disse, a ponto de cuspir o nojo. “E ela especialmente. Toda carola, vem aqui uma vez por semana, com seus santinhos, de rosário nas mãos.” Danilo se inclinou para a frente, pôs as
mãos debaixo do queixo, olhou para Brunetti e apertou os lábios. Deixou de lado seu habitual dialeto de Trento e se expressou no mais puro dialeto veneziano. Disse com voz esganiçada: “Oh, dottor Danilo,
o senhor não sabe o bem que eu fiz para as pessoas desta cidade. O senhor não sabe quantas pessoas são gratas a mim pelo que fiz por elas e como deveriam rezar por mim. Não, o senhor não tem a menor ideia”.
Embora Brunetti jamais tivesse ouvido a signora Volpato falar, ele ouviu na paródia rasgada de Danilo o eco de cada hipócrita que havia conhecido.
Danilo se endireitou subitamente e a velha em que ele se transformara desapareceu. “E como é que ela age?”, Brunetti perguntou.
“As pessoas conhecem muito bem os dois. Estão sempre no campo, um deles na parte da manhã, de modo que eles não são difíceis de achar.”
“Mas como é que toda essa gente fica sabendo da existência deles?”
“Como é que as pessoas ficam sabendo do que quer que seja? A fama vai se espalhando. São os caras que precisam de dinheiro para pagar as contas, ou que jogam ou que não conseguem deixar os negócios no
azul. Eles assinam um documento, dizendo que vão pagar de volta daí a um mês e os juros sempre são adicionados à quantia emprestada. Mas não tem jeito, eles acabam precisando de outro dinheiro emprestado
para pagar o primeiro empréstimo. Os jogadores não ganham. As pessoas não aprendem a ser boas administradoras dos negócios delas.”
Após refletir um pouco, Brunetti declarou: “O que me espanta é que tudo isso é legal”.
“Se eles obtêm um documento, redigido por um tabelião e assinado pelos dois lados, nada é mais legal.”
“Quem são os tabeliães?”
Danilo citou três deles. Eram homens respeitáveis, com muita prática e um deles trabalhava para o sogro de Brunetti.
“Todos os três?”, Brunetti perguntou, incapaz de esconder o espanto.
“E por acaso você acha que os Volpato declaram o que pagam para eles? Acredita que eles pagam impostos sobre aquilo que ganham dos Volpato?”
Brunetti não ficou nem um pouco surpreso com o fato de que os tabeliães perdessem a dignidade e participassem de algo tão desonesto. O que lhe causou surpresa foi ouvir os nomes dos tabeliães. Um deles
era membro dos Cavalheiros da Ordem de Malta e outro um ex-conselheiro municipal.
“Vamos tomar um drinque”, encorajou-o Danilo, “e então você me conta por que quer saber de tudo isso.” Ao notar a expressão de Brunetti, ele se corrigiu: “Ou não conta”.
Do outro lado da calle, em Rosa Salva, Brunetti se limitou a dizer que estava interessado nos emprestadores de dinheiro da cidade e em sua dúbia existência entre a legalidade e o crime. A clientela de
Danilo era em boa parte formada por senhoras idosas, muitas apaixonadas por ele, de modo que não raro ele se fazia o depositário de um infindável repertório de fofocas. Amável, paciente, sempre disposto
a dar-lhes atenção, ao longo dos anos Danilo acumulou um Eldorado de fofocas e de insinuações que, no passado, haviam sido valiosa fonte de informações para Brunetti. Danilo citou os nomes de alguns dos
mais famosos agiotas da cidade, descrevendo-os e catalogando a riqueza que eles conseguiram acumular.
Sensível ao estado de espírito de Brunetti e a seu senso de discrição profissional, Danilo prosseguiu com seu próprio repertório de fofocas, ciente de que ele lhe faria mais perguntas. Então, consultando
rapidamente o relógio, disse: “Bem, preciso ir. O jantar é às oito”.
Ambos saíram do bar e foram andando até o Rialto, falando de assuntos corriqueiros. Ao chegar à ponte se despediram, pois o jantar os esperava.
Àquela altura aqueles pedaços desencontrados de informação estavam girando havia dias na mente de Brunetti. Ele mudava os pedaços de lugar, brincava com eles, tentando juntá-los num padrão minimamente
coerente. Os funcionários do Ufficio Catasto, ele percebeu, tinham de saber quem devia fazer restauros ou pagar multas por obras realizadas ilegalmente no passado. Tinham de saber de quanto eram as multas.
Poderiam até mesmo ter alguma voz ativa na decisão sobre o valor. Daí tudo o que precisavam fazer era verificar a situação financeira dos proprietários e isso não constituía problema algum. Certamente
a signorina Elettra não era o único gênio da cidade. Então, diante de alguém que se queixasse de não ter dinheiro para pagar a multa, era muito fácil para eles sugerir uma conversa com os Volpato.
Era mais do que tempo de visitar o Ufficio.
Quando chegou à questura na manhã do dia seguinte, um pouco depois das oito e meia, o guarda que estava na porta disse que uma jovem tinha estado ali mais cedo, pedindo para falar com ele. Não, ela não
esclareceu o que queria e, quando o guarda disse que o commissario Brunetti ainda não havia chegado, ela avisou que iria tomar um café e voltaria daí a pouco. Brunetti disse ao jovem guarda que a levasse
até seu escritório assim que ela retornasse.
Leu, no escritório, a primeira página do Gazzettino e pensava em dar uma saída para tomar um café quando o guarda apareceu na porta e disse que a jovem estava lá. Ele se pôs de lado e uma garota que parecia
ser pouco mais do que uma adolescente entrou. Brunetti agradeceu ao guarda e disse-lhe que voltasse a seu posto. O guarda bateu continência e fechou a porta ao sair. Brunetti fez um gesto de acolhida à
jovem, que ainda estava parada na porta, como se temesse as consequências de pisar no escritório.
“Por favor, signorina, sinta-se à vontade.”
Deixando a ela a decisão do que fazer, foi até a mesa e se acomodou.
Ela atravessou lentamente a sala e se sentou muito ereta na beira da cadeira, com as mãos no colo. Brunetti a olhou rapidamente e se inclinou para mexer em sua papelada a fim de dar a ela tempo para relaxar
e ficar numa posição mais confortável.
Quando voltou a olhar para ela, sorriu de um modo que, segundo achava, transmitia afabilidade. A jovem tinha cabelos castanhos, curtos e aparados como os de um rapaz, usava jeans e um suéter azul-claro.
Brunetti notou que seus olhos eram da mesma tonalidade de seus cabelos e eram cercados por cílios tão espessos que ele chegou a pensar que eram falsos, até notar que ela não usava maquiagem alguma e descartar
a ideia. Era uma garota bonita, do jeito que a maioria das garotas é bonita: ossatura delicada, nariz reto e curto, pele macia e boca pequena. Se a tivesse visto tomando café num bar não teria olhado para
ela duas vezes, mas ao vê-la diante de si, pensou na sorte de viver num país onde não faltavam garotas bonitas, e onde garotas ainda mais bonitas eram um acontecimento normal.
Ela pigarreou uma, duas vezes e então disse: “Sou amiga do Marco”. Sua voz era extraordinariamente bela, grave, musical, repleta de sensualidade. Era o som que se esperaria de uma mulher que levara uma
longa vida repleta de prazer.
Brunetti aguardou que ela desse mais explicações, mas como ela não disse mais nada perguntou. “E qual é o motivo de ter vindo falar comigo, signorina?”.
“Vim porque quero ajudar o senhor a encontrar as pessoas que mataram ele.”
Brunetti se manteve impassível, enquanto lhe ocorria que ela devia ser a jovem que havia telefonado de Veneza para Marco. “Então você é a outra coelhinha?”, ele perguntou, bondoso.
Aquela pergunta a deixou assustada. Ela fechou as mãos, levou-as à altura do peito e apertou automaticamente os lábios num círculo estreito, ficando de fato muito parecida com um coelho.
“Como é que o senhor sabe?”
“Vi os desenhos dele”, Brunetti explicou, acrescentando: “Fiquei admirado com o talento dele e com a óbvia afeição que ele tinha por coelhos”.
A jovem inclinou a cabeça e ele achou que ela tinha começado a chorar, mas era engano. Ela levantou a cabeça e encarou-o. “Eu tinha um coelho de estimação quando era menina. Quando contei para o Marco,
ele me disse o quanto odiava a atitude do pai dele, que costumava atirar nos coelhos e envenená-los na fazenda deles.” Ela fez uma pausa e prosseguiu: “Eles são uma praga. É o que o pai dele dizia”.
“Pois é…”
Fez-se silêncio, mas ele esperou. Então ela disse, como se eles não tivessem falado de coelhos: “Sei quem eles são”. Suas mãos se contorceram no colo, mas sua voz permaneceu calma, quase sedutora. Ocorreu-lhe
que ela não tinha a menor ideia do poder e da beleza daquela voz.
Brunetti acenou, encorajando-a, e ela prosseguiu: “Isto é, sei o nome de um deles, o que vendeu a droga para o Marco. Não sei o nome dos sujeitos de quem ele consegue a droga, mas acho que ele conta, se
o senhor deixar ele bem assustado”.
“Me parece que nossa função não é assustar as pessoas”, Brunetti afirmou sorrindo, desejando que aquilo fosse verdade.
“O que eu quis dizer era assustar para ele vir aqui e contar o que sabe. Ele faria isso se achasse que os senhores sabem quem são os tais sujeitos e vão prendê-los.”
“Se a signorina der o nome dessa pessoa podemos trazê-lo até aqui e interrogá-lo.”
“Mas não seria melhor se ele viesse até aqui voluntariamente e contasse o que sabe?”
“Sim, com toda certeza isso…”
Ela o interrompeu. “Não tenho nenhuma prova. Não posso testemunhar que vi a pessoa vender a droga para o Marco, nem que o Marco me contou.” Ela se mexeu desajeitada na cadeira e pôs novamente as mãos dobradas
no colo. “Mas sei que ele viria aqui se não tivesse outra escolha. Então não seria tão ruim para ele, não é mesmo?”
Aquela preocupação tão intensa só poderia ser direcionada para alguém da família dela, percebeu Brunetti. “Sinto, mas a signorina ainda não me disse como se chama.”
“Não quero lhe dizer meu nome”, ela retrucou e um pouco da delicadeza sumiu de sua voz.
Brunetti abriu as mãos, estendendo os dedos como símbolo da liberdade que ele concedia. “Você tem esse direito, signorina. Nesse caso, a única coisa que eu aconselho você a fazer é dizer a essa pessoa
que ela deveria vir até aqui.”
“Ele não vai me ouvir. Nunca me ouviu”, ela disse, irredutível.
Brunetti pensou em suas opções. Observou sua aliança de casamento, notou que estava mais fina, gasta pela passagem dos anos. Levantou os olhos e encarou a jovem. “Ele costuma ler jornais?”
Ela ficou surpresa e respondeu instantaneamente: “Sim”.
“O Gazzettino?”
“Sim.”
“Você pode fazer com que ele o leia amanhã?”
Ela concordou.
“Muito bem. Espero que seja o suficiente para convencê-lo a vir conversar conosco. A signorina vai tentar convencê-lo a vir?”
A jovem abaixou os olhos e mais uma vez Brunetti pensou que ela iria começar a chorar. Em vez disso ela disse: “Venho tentando fazer isso desde que o Marco morreu”. Não conseguiu continuar, suas mãos se
crisparam mais uma vez e ela balançou a cabeça. “Ele tem medo.” Seguiu-se uma longa pausa. “Não posso fazer nada para convencê-lo. Meus pa…”. Ela não completou a frase, confirmando o que Brunetti já sabia.
A jovem fez menção de se levantar, e ele notou que ela estava pronta para se retirar depois de dar seu recado.
Brunetti se ergueu sem pressa. Ela fez o mesmo e foi até a porta.
Brunetti a abriu para ela. Agradeceu-lhe por ter vindo conversar com ele. A moça mal começou a descer a escada, e ele fechou a porta, correu até o telefone e discou o número da mesa do guarda que ficava
na entrada. Reconheceu a voz do rapaz que tinha levado a jovem até seu escritório.
“Masi, não diga nada. Assim que aquela garota descer, leve-a para sua sala e faça com que ela permaneça ali pelo menos durante alguns minutos. Diga que precisa anotar em seu caderno de registros a que
horas ela saiu, invente algo parecido, porém retenha ela aí. Então pode deixá-la ir embora.”
Sem dar oportunidade de resposta, Brunetti desligou o telefone e foi até o grande armário de madeira que ficava ao lado da porta. Escancarou a porta e dentro estava um velho paletó de tweed que ele deixara
lá havia mais de um ano. Arrancou o paletó do cabide e, segurando-o com uma das mãos, foi até a porta da sala, abriu-a, olhou para a escada e desceu em desabalada até a sala dos policiais, no andar de
baixo.
Arfando, Brunetti entrou na sala e agradeceu intimamente ao ver Pucetti em sua mesa. “Pucetti, levante-se e tire o paletó.”
O jovem policial se levantou no mesmo instante, tirou o paletó e o jogou em cima da mesa. Brunetti entregou-lhe o paletó de tweed, dizendo: “Lá perto da porta de entrada está uma garota. Masi vai ficar
uns minutos segurando a menina na sala dele. Quando ela sair, quero que você a siga. Fique atrás dela o dia inteiro, se for preciso, mas quero saber aonde ela vai, quero saber quem ela é”.
Pucetti já andava em direção à porta. O paletó era largo, folgado demais e assim ele dobrou as mangas até a altura do antebraço e tirou apressadamente a gravata, jogando-a em direção à mesa. Ao sair do
prédio, sem pedir explicação alguma a Brunetti, sua aparência era a de um jovem em trajes esportivos, que tinha escolhido usar camisa branca e calça azul naquele dia, contrabalançando o corte militar da
calça com um paletó de tweed muito largo, com os punhos dobrados, o que demonstrava uma certa ousadia.
Brunetti voltou para seu escritório, ligou para a redação do Il Gazzettino e se identificou. Relatou que a polícia, ao investigar a morte de um jovem estudante relacionada com drogas, tinha descoberto
a identidade do rapaz que, segundo se supunha, fora o responsável por vender a substância que causara a morte do jovem. Sua prisão era iminente e era de se esperar que ela resultasse na detenção de outras
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região do Vêneto. Ao desligar, sua única esperança era que aquilo fosse suficiente para forçar o parente da jovem que o procurara, fosse quem fosse, a reunir
coragem para ir até a questura. Se o plano desse certo, algo positivo poderia vir da estúpida perda da vida de Marco Landi.
Ele e Vianello se apresentaram no Ufficio Catasto às onze horas. Brunetti declarou nome e cargo à secretária, no primeiro andar, e ela disse que a sala do ingeniere Dal Carlo ficava no terceiro andar.
Prontificou-se a ligar para ele e dizer que o commissario Brunetti estava indo encontrá-lo.
Brunetti, seguido por um silencioso e uniformizado Vianello, subiu até o terceiro andar, e ficou muito surpreso ao ver a quantidade de pessoas, homens na maioria, que desciam e subiam as escadas. Em todos
os andares funcionários se apinhavam nas portas dos escritórios, segurando fotocópias e volumosas pastas com papéis.
A sala do ingeniere Dal Carlo era a última à esquerda. Uma mulher baixinha, que parecia ter idade para ser mãe de Vianello, estava sentada numa mesa, de frente para eles e ao lado da imensa tela de um
computador. Ela deu uma espiada neles através das grossas lentes dos óculos de leitura. Seus cabelos, muito grisalhos, estavam amarrados num coque, o que forçou Brunetti a pensar na signora Landi, e seus
ombros estreitos eram encurvados, sugerindo o início de uma osteoporose. Não usava maquiagem alguma, como se tivesse descartado há muito tempo a ideia de sua possível utilidade.
“Commissario Brunetti?”, ela perguntou, sem se levantar.
“Sim. Gostaria de falar com o ingeniere Dal Carlo.”
“Posso indagar qual seria o assunto em tela?”, ela perguntou, falando um italiano muito preciso e usando uma fórmula que ele não ouvia há anos.
“Gostaria de fazer-lhe algumas perguntas sobre um ex-funcionário daqui.”
“Ex-funcionário?”
“Sim. Franco Rossi.”
“Ah, pois não”, ela disse, levando a mão à testa e cobrindo os olhos. Abaixou a mão, tirou os óculos e encarou Brunetti. “Pobre rapaz. Ele trabalhou aqui durante anos. Foi terrível. Jamais aconteceu algo
assim.” Ela voltou o olhar para um crucifixo na parede e seus lábios se moveram numa prece silenciosa em favor do morto.
“A senhora conheceu o signor Rossi?”, Brunetti perguntou e prosseguiu, como se não tivesse entendido direito o nome dela. “signora…?”
“Dolfin, signorina”, ela respondeu secamente e fez uma pausa, como que esperando a reação dele ao ouvir seu nome, e então prosseguiu: “O escritório dele era logo depois do hall. Ele sempre foi um rapaz
muito bem educado, sempre muito respeitoso para com o dottor Dal Carlo”. A signorina Dolfin falava como se não pudesse conceber um elogio maior.
“Compreendo”, disse Brunetti, cansado de ouvir aquelas louvações vazias que a morte exigia. “Seria possível eu falar com o ingeniere?”
“Sem a menor dúvida”, ela disse, levantando-se. “Peço-lhe desculpas por falar tanto. É que uma pessoa não sabe o que fazer diante de morte tão trágica.”
Brunetti fez um gesto de concordância, a maneira mais eficiente que ele conhecia de reagir a um clichê.
Ela os levou até a porta do escritório, bateu duas vezes, fez uma ligeira pausa e em seguida deu uma leve batida, como se, ao longo dos anos, tivesse inventado um código que comunicaria ao ingeniere que
tipo de visitante estava à espera. Quando se ouviu a voz dele, dizendo “Avanti”, Brunetti flagrou um brilho inconfundível nos olhos da signorina, notou que os cantos de sua boca se altearam.
Ela abriu a porta, entrou, deu um passo para o lado para que os dois entrassem e disse: “Aqui está o commissario Brunetti, dottore”. Enquanto entravam, Brunetti tinha visto de relance um homem corpulento,
de cabelo escuro, sentado à mesa, mas não tirou os olhos da signorina Dolfin enquanto ela falava. Intrigou-o a mudança que percebia nela, até mesmo o tom de sua voz, muito mais cálida e suave do que quando
ela o recebeu.
“Obrigado, signorina”, disse Dal Carlo, mal olhando para ela. “Pode se retirar.”
“Grata, dottore”, ela disse, afastando-se muito lentamente. Saiu da sala e fechou a porta sem fazer ruído.
Dal Carlo se levantou, sorrindo. Aparentava uns cinquenta e tantos anos, mas tinha a pele firme e o porte ereto de um homem mais jovem. Seu sorriso revelou dentes com jaqueta à moda italiana, um tamanho
maior do que o necessário. “Que prazer em conhecê-lo, commissario”, ele disse, estendendo a mão para Brunetti. Quando este retribuiu o gesto, apertou sua mão com firmeza. Dal Carlo acenou para Vianello
e levou-os até as cadeiras, convidando-os a sentar. “Em que posso ajudá-lo?”
“Gostaria de saber algo a respeito de Franco Rossi”, disse Brunetti.
“Ah, claro”, disse Dal Carlo, sacudindo a cabeça algumas vezes. “O que aconteceu foi terrível, trágico. Ele era um rapaz esplêndido, um funcionário e tanto. Tinha tudo para seguir adiante numa carreira
muito bem-sucedida.” Suspirou e repetiu: “Trágico, trágico”.
“Por quanto tempo ele trabalhou aqui, ingeniere?”, Brunetti perguntou. Vianello tirou do bolso uma pequena caderneta e começou a fazer anotações.
“Deixe-me ver. Eu diria que por volta de cinco anos. Posso perguntar à signorina Dolfin. Ela dará ao senhor uma resposta mais precisa.”
“Não é necessário, dottore. Quais eram exatamente as atribuições do signor Rossi?”
Dal Carlo pôs a mão no queixo, numa atitude pensativa, e olhou para o chão. Disse após algum tempo: “Ele tinha de examinar plantas de edificações para ver se estavam de acordo com as reformas e restauros
realizados”.
“E como é que ele fazia isso, dottore?”
“Ele examinava os registros aqui mesmo e em seguida inspecionava o lugar onde o trabalho tinha sido feito para verificar a adequação.”
“Adequação?” Brunetti perguntou, à maneira de um leigo confuso.
“Isso, se a reforma coincidia com o que estava nas plantas.”
“E se alguma coisa estivesse errada?”
“Então o signor Rossi comunicava as discrepâncias e nós dávamos início aos devidos procedimentos.”
“Tais como?”
Dal Carlo fitou Brunetti, parecendo desconfiar não apenas da pergunta, mas também do motivo que o levara a fazê-la.
“Habitualmente, a aplicação de multa e uma ordem para que o trabalho realizado fosse refeito a fim de se conformar com as especificações dos registros”, Dal Carlo respondeu.
“Entendo”, disse Brunetti, fazendo um leve aceno para Vianello para que ele desse destaque a essa resposta. “A inspeção poderia ser muito onerosa.”
“Não estou entendendo muito bem o que o senhor quer dizer com isso, commissario”, Dal Carlo declarou com ar intrigado.
“O que quero dizer é que sairia muito caro fazer uma obra e então ter de refazê-la. Isso para não mencionar as multas.”
“É claro. O código é muito preciso em relação a isso.”
“Então é duplamente caro.”
“Posso bem imaginar, mas poucas pessoas são irrefletidas a ponto de tentar fazer algo assim.”
Brunetti não refreou um ligeiro sobressalto e olhou para Dal Carlo com o pequeno sorriso que um conspirador dirige a outro. “Se é o senhor que está dizendo, ingeniere…” Mudou rapidamente de assunto e de
tom de voz e perguntou: “O signor Rossi alguma vez recebeu ameaças?”.
“Também não entendo o que o senhor está querendo dizer com isso, commissario.” Ele parecia confuso.
“Pois então permita-me ser claro, dottore. O signor Rossi tinha plena autoridade para fazer com que as pessoas despendessem muito dinheiro. Se ele comunicasse que uma obra ilegal havia sido feita numa
edificação, os proprietários ficariam sujeitos a multas e teriam de arcar com as despesas necessárias para corrigir os erros cometidos.” Brunetti sorriu e acrescentou: “Ambos sabemos quais são os custos
de reformas e restauros nesta cidade e assim duvido que qualquer pessoa ficaria contente caso a inspeção do signor Rossi descobrisse alguma discrepância”.
“Claro que ninguém ficaria contente”, Dal Carlo concordou. “Mas duvido muito que qualquer pessoa ousasse ameaçar um funcionário da prefeitura que só estava cumprindo seu dever.”
Brunetti perguntou subitamente: “O signor Rossi seria capaz de aceitar uma propina?”. Teve a cautela de olhar para o rosto de Dal Carlo enquanto pronunciava essas palavras e notou que ele ficou surpreso
e até mesmo chocado.
No entanto, em vez de responder, Dal Carlo deu considerável atenção à pergunta. “Nunca pensei nisso antes”, disse e Brunetti não tinha a menor dúvida de que ele estava falando a verdade. Dal Carlo fechou
os olhos e inclinou a cabeça para trás, para mostrar que ainda estava meditando. “Não gostaria de falar mal dele, agora muito menos, mas isso poderia ser possível. Bem, poderia ter sido possível”, ele
declarou, após hesitar, constrangido.
“Por que o senhor diz isso?”, perguntou Brunetti, embora tivesse quase certeza de que aquela declaração não era nada mais do que uma tentativa um tanto óbvia de usar Rossi para apagar as pistas de sua
própria e provável desonestidade.
Pela primeira vez Dal Carlo olhou nos olhos dele. Caso fosse preciso, Brunetti não poderia ter encontrado uma prova mais segura de que ele estava mentindo. “O senhor precisa entender que não se trata de
algo específico que eu possa nomear ou descrever. O comportamento de Rossi mudou nos últimos meses. Ele se tornou furtivo, nervoso. Só agora, quando o senhor faz esta pergunta, é que me ocorre esta possibilidade.”
“Seria algo fácil de fazer?”, Brunetti perguntou e, como Dal Carlo parecia não entender ele esclareceu: “Aceitar ser subornado?”.
O que ele menos esperava era Dal Carlo dizer que jamais havia pensado em semelhante coisa, caso em que não sabia se poderia controlar a risada. Afinal de contas eles estavam numa repartição da prefeitura.
O engenheiro acabou dizendo: “Suponho que seria possível”.
Brunetti ficou em silêncio durante muito tempo até que Dal Carlo foi forçado a indagar: “Por qual motivo está fazendo estas perguntas, commissario?”.
Brunetti enfim disse: “Não estamos completamente satisfeitos com a hipótese de que a morte de Rossi tenha sido um acidente”. Ele sempre tinha achado muito mais eficiente empregar o plural.
Daquela vez Dal Carlo não conseguiu esconder sua surpresa, embora não houvesse como saber se era uma surpresa diante daquela possibilidade ou surpresa diante da descoberta da polícia. Enquanto várias ideias
cruzavam sua mente, ele olhou furtivamente para Brunetti, e este se lembrou de que Zecchino tinha olhado para ele de um modo bem parecido.
Com o jovem drogado na cabeça, Brunetti declarou: “Acho que temos uma testemunha que pode dizer que a história foi um pouco diferente”.
“Uma testemunha?”, repetiu Dal Carlo numa voz alta, desconfiada, como se jamais tivesse ouvido aquela palavra.
“Sim, alguém que estava na casa.” Brunetti se ergueu de improviso. “Obrigado por sua ajuda, dottore”, disse, estendendo a mão. Dal Carlo, obviamente desconcertado pelo estranho rumo que a conversa tinha
tomado, se pôs de pé e estendeu a mão. Seu aperto já era bem menos efusivo.
Só depois de abrir a porta ele deu vazão à surpresa. “Acho inacreditável. Ninguém teria assassinado o Rossi, não havia motivo para semelhante coisa. E aquela casa está vazia. Como é que alguém poderia
ter visto o que aconteceu?”
Como nem Brunetti nem Vianello se manifestaram, Dal Carlo saiu da sala, ignorando a signorina Dolfin, ocupada no computador, e acompanhou os dois até a saída. Despediram-se sem maiores efusões.
21.
Brunetti dormiu muito mal aquela noite. Várias vezes foi despertado por lembranças do que havia acontecido durante o dia. Ele se deu conta de que Zecchino provavelmente tinha mentido sobre o assassinato
de Rossi e visto ou ouvido muito mais do que admitira. Que outro motivo o levaria a ser tão evasivo? A madrugada interminável trouxe à baila ainda mais coisas: a recusa de Patta de admitir que o comportamento
do filho era criminoso; a falta de solidariedade do amigo Luca para com a esposa; a incompetência geral que prejudicava todo santo dia de trabalho. No entanto, o que mais o perturbava era pensar nas duas
jovens, uma delas tão maltratada pela vida que consentiria em fazer sexo com Zecchino naquele lugar sórdido, e a outra, dividida pela dor que a morte de Marco lhe causara e a culpa por saber o que a motivara.
A experiência havia eliminado qualquer traço de cavalheirismo em Brunetti, mas ainda assim ele não conseguia se livrar de uma enorme pena daquelas garotas.
Estaria a primeira delas no andar de cima quando ele encontrou Zecchino? Ansioso para sair daquela casa, ele não tinha subido ao sótão para ver se mais alguém estava lá. O fato de Zecchino descer as escadas
não significava que ele iria sair. Seria perfeitamente plausível que ele quisesse investigar o barulho produzido pela chegada de Brunetti, deixando a garota no sótão. Pelo menos Puccetti conseguiu averiguar
o nome da segunda garota: Anna Maria Ratti, que morava com os pais e o irmão em Castello e era estudante de arquitetura na universidade.
Pouco depois de ouvir o sino anunciando que eram quatro horas, Brunetti decidiu voltar para a casa assim que o dia clareasse e conversar novamente com Zecchino. Em seguida caiu num sono tranquilo, acordando
só depois que Paola foi para a universidade e os filhos para a escola.
Vestiu-se, telefonou para a questura, comunicou que chegaria atrasado e voltou para o quarto a fim de encontrar sua pistola. Empurrou uma cadeira até o armadio, subiu nela e viu na prateleira de cima a
caixa que seu pai trouxera da Rússia no fim da guerra. Um cadeado a prendia, mas ele não tinha a menor ideia de onde pusera a chave. Tirou a caixa da prateleira, desceu e colocou-a em cima da cama. Na
parte de cima havia um papel colado e nele um aviso, com a inconfundível letra de Chiara: “Papà, pelo visto Raffi e eu não deveríamos tomar conhecimento de que a chave do cadeado está colada na parte de
trás do quadro no escritório da Mamma. Baci”.
Ele foi ao escritório, pegou a chave e pensou se deveria acrescentar algo ao aviso de Chiara, mas achou melhor não a encorajar. Abriu o cadeado, pegou a pistola, carregou-a e colocou-a no coldre de couro
que havia prendido no cinto. Pôs a caixa de volta no armário e saiu do apartamento.
A calle, como das outras vezes em que ele fora lá, estava vazia e ainda não havia sinal de atividade nos andaimes. Brunetti tirou a pistola do coldre, entrou e dessa vez deixou a porta aberta. Não se preocupou
em suavizar seus passos ou atenuar o barulho de sua presença. Ao chegar no fim da escada anunciou em voz alta: “Zecchino, é a polícia. Estou subindo”.
Esperou um momento, mas não ouviu resposta ou grito algum. Lamentou não ter trazido uma lanterna e, contente com o pouco de luminosidade que entrava pela porta aberta, subiu até o primeiro andar. Ainda
não ouvia nenhum som vindo de cima. Foi até o segundo andar, em seguida ao terceiro e fez uma pausa no patamar. Abriu as venezianas de duas janelas, o que lhe proporcionou luz suficiente para voltar para
a escada e subir até o sótão.
Brunetti fez mais uma pausa ao chegar ao último degrau. Havia portas dos dois lados do patamar e uma terceira no fim de um corredor estreito. Penetrava muita luz através de uma veneziana quebrada, à esquerda.
Ele aguardou, voltou a chamar Zecchino e então, estranhamente reconfortado pelo silêncio, abriu a primeira porta à direita.
O quarto estava vazio, isto é, não tinha ninguém ali, a não ser algumas caixas com ferramentas, duas serras e calças manchadas de tinta e cal. A porta do lado oposto se abria para o mesmo tipo de vazio
entulhado. Faltava abrir a porta no fim do corredor.
Lá dentro, conforme ele previra, estava Zecchino e também a garota. Graças à luz que escapava de uma claraboia suja, ele a viu pela primeira vez, estendida em cima de Zecchino. Ele devia ter sido o primeiro
a ser assassinado ou então desistiu de se defender e sucumbiu à saraivada de golpes; ela teria continuado a lutar, em vão, só para desabar em cima dele.
“Gesù bambino”, Brunetti disse baixinho, ao vê-los, e resistiu ao impulso de fazer o sinal da cruz. Lá estavam aqueles corpos frágeis, já reduzidos daquele jeito peculiar que a morte tem de fazer com que
as pessoas pareçam menores. Um halo escuro de sangue se espalhava por suas cabeças, bem juntas uma da outra, como as de filhotes ou de jovens amantes.
Ele viu a parte de trás da cabeça de Zecchino e o rosto da garota ou, para ser mais preciso, o que tinha restado dele. Ambos pareciam ter sido agredidos até a morte. O crânio de Zecchino perdera toda a
rotundidade. O nariz da garota não existia mais, destruído por um golpe tão violento que tudo o que sobrou foi um naco de cartilagem em cima da bochecha esquerda.
Brunetti desviou o olhar e contemplou o quarto. Alguns colchões manchados estavam empilhados contra uma parede. Ao lado deles havia roupas — quando olhou novamente para o casal viu que eles estavam semidespidos
— que eles tiraram na pressa de fazer o que quer que fosse naqueles colchões. Viu uma seringa ensanguentada e veio-lhe à lembrança um poema que Paola uma vez tinha lido para ele, no qual o poeta tentava
seduzir uma mulher dizendo-lhe que o sangue de ambos estava misturado dentro da pulga que bebera o sangue deles. Ele tinha achado que aquela imagem era uma maneira enlouquecida de encarar a união de um
homem e de uma mulher, mas não era algo mais louco do que a agulha jogada no chão. Ao lado dela havia envelopes de plástico, provavelmente não muito maiores do que os que foram encontrados no bolso do
casaco de Roberto Patta.
Brunetti desceu as escadas, pegou o telefonino que ele tinha achado por bem carregar naquele dia e ligou para a questura, comunicando o que havia descoberto e onde deveriam encontrá-lo. A voz do profissionalismo
disse-lhe para voltar ao quarto onde estava o casal e verificar o que mais ele poderia descobrir. Decidiu permanecer surdo àquele chamado e em vez disso ficou debaixo do sol no outro lado da calçada, enquanto
aguardava a vinda dos demais.
Quando eles chegaram, ordenou que subissem, resistindo à tentação de dizer-lhes que como não havia operários trabalhando na casa aquele dia, eles poderiam prosseguir investigando a cena do crime. Nada
havia a ganhar com uma piada infame e para eles não faria a menor diferença saber que tinham sido tapeados na última vez em que lá estiveram.
Perguntou-lhes quem fora convocado para examinar os corpos e ficou contente ao saber que era Rizzardi. Não se mexeu quando eles entraram na casa e ainda estava no mesmo lugar vinte minutos depois, quando
o médico-legista chegou e ambos se cumprimentaram.
“Mais um morto?”, perguntou Rizzardi.
“Dois”, disse Brunetti, atravessando a rua e indo à frente dele.
Os dois subiram as escadas sem tropeços, pois todas as venezianas estavam abertas e a luz era abundante. Ao chegarem ao último degrau, à semelhança de mariposas, foram atraídos pelas luzes das lanternas
dos técnicos, que saíram do quarto, atravessaram o corredor e lhes chamaram a ver aquela nova prova da fragilidade do corpo, da futilidade da esperança.
Ao entrar, Rizzardi foi até os corpos e examinou-os de cima. Depois enfiou um par de luvas de borracha e se abaixou para tocar na garganta da garota e, em seguida, na do rapaz. Pôs sua bolsa de couro no
chão e se agachou ao lado do corpo da garota, fazendo-o rolar até ficar de costas, separado do corpo do rapaz. Lá ela permaneceu, com os olhos mortiços voltados para o teto. Uma mão destroçada veio deslizando
pelo corpo e bateu com força no chão, assustando Brunetti, que tinha preferido desviar o olhar.
Ele se aproximou um pouco mais e ficou ao lado de Rizzardi, olhando para ela. Seus cabelos curtos, muito aparados, tingidos com hena vermelho-escura, estavam engordurados e sujos. Brunetti notou que seus
dentes, que apareciam através de uma fenda na boca ensanguentada, brilhavam e eram perfeitos. O sangue havia coagulado em torno da boca, mas o fluxo do nariz destruído parecia ter corrido para os olhos,
enquanto ela ficou estendida no chão. Acaso teria sido bonita? Acaso teria sido uma garota comum?
Rizzardi pegou no queixo de Zecchino para virar a cabeça para a luz. “Os dois foram mortos por pancadas na cabeça”, ele disse, apontando para uma região à esquerda da testa do rapaz. “Não é fácil fazer
isso e requer muita força ou então muitas pancadas. A morte não é rápida, mas pelo menos eles não sentem muita coisa, não depois dos primeiros golpes.” Ele voltou a olhar para a garota e virou o rosto
dela de lado a fim de examinar uma concavidade escurecida na parte de trás da cabeça. Registrou duas marcas no antebraço. “Eu diria que alguém a segurou enquanto ela era agredida, possivelmente com um
pedaço de pau ou um cano.”
Ambos não julgaram necessário fazer comentários a esse respeito ou acrescentar: “Como aconteceu com Rossi”.
Rizzardi se levantou, tirou as luvas e as guardou no bolso do paletó.
“Quando você vai poder fazer a autópsia?”, foi tudo o que Brunetti conseguiu perguntar.
“Creio que hoje à tarde.” Rizzardi sabia muito bem que não deveria pedir a Brunetti para estar presente. “Me telefone depois das cinco, nessa hora já vou estar sabendo algo.” Antes que Brunetti pudesse
responder, ele acrescentou: “Não será muita coisa, porém, não muito mais do que vimos aqui”.
Encerrado o trabalho de Rizzardi, a equipe de investigação deu início à sua sinistra paródia de domesticidade: varrer, tirar o pó, pegar pequenas coisas que tinham caído no chão e cuidar para que elas
fossem colocadas em lugares seguros. Brunetti se forçou a examinar os bolsos do jovem casal, mas primeiro verificou as roupas que estavam ao lado e sobre os colchões. Após aceitar o par de luvas que Del
Vecchio lhe entregou, examinou as roupas que eles ainda usavam. Encontrou no bolso da camisa de Zecchino mais três envelopes de plástico contendo pó branco. Entregou-os a Del Vecchio, que os rotulou cuidadosamente
e guardou em sua maleta.
Para alívio de Brunetti, Rizzardi tivera a iniciativa de fechar os olhos deles. As pernas nuas de Zecchino o fizeram lembrar das fotos daquelas figuras esquálidas na frente dos portões de entrada dos campos
de concentração: eram só pele e osso, quase não havia sinais de músculos. E como eram salientes os joelhos do rapaz… O mesmo se dava com um de seus ossos pélvicos. Pústulas vermelhas cobriam as coxas,
embora Brunetti não pudesse afirmar se eram cicatrizes supuradas de antigas injeções ou sintomas de uma doença de pele. A garota, embora assustadoramente magra e quase sem seios, não era tão cadavérica
como Zecchino. Ao se dar conta de que ambos eram agora e para sempre cadavéricos, Brunetti se retirou e desceu as escadas.
Como estava encarregado daquela parte da investigação, o mínimo que poderia fazer pelos mortos era permanecer lá, até que seus corpos fossem removidos e a equipe terminasse de recolher as amostragens e
examinar tudo o que pudesse ser útil para localizar os assassinos. Brunetti foi até o fim da calle e olhou para o jardim do outro lado, admirado porque as forsítias sempre pareciam radiantes, mesmo assim
vestidas às pressas.
Era claro que eles precisariam fazer perguntas, investigar a área e localizar qualquer pessoa que pudesse se lembrar de ter visto alguém andando por ali ou entrando na casa. Ao virar, viu um pequeno grupo
de pessoas no outro extremo da calle, onde ela dava para uma rua mais larga, e caminhou na direção delas, já pensando nas primeiras perguntas que lhes faria.
Como esperava, ninguém tinha visto o que quer que fosse, nem naquele dia nem em qualquer momento das últimas semanas. Ninguém jamais vira Zecchino e não conseguiam se lembrar de algum dia ter visto uma
garota. Como não havia meios de obrigá-los a falar, Brunetti não tentou contradizê-los, mas sabia, por experiência, que ao lidar com a polícia poucos italianos conseguiam lembrar de muita coisa além de
seus próprios nomes.
Outros interrogatórios poderiam ser feitos após o almoço ou no final da tarde, quando as pessoas que moravam por ali deveriam estar de volta a suas casas. Brunetti sabia, porém, que ninguém admitiria ter
visto o que quer que fosse. A notícia de que dois drogados tinham morrido nas redondezas se espalharia rapidamente e raras seriam as pessoas que dariam alguma importância àquelas mortes, certamente não
a ponto de se pôr à disposição para um interrogatório da polícia. Por que se submeter a infindáveis horas de grosserias? Por que correr o risco de precisar se ausentar do trabalho, responder a mais perguntas
ou ter de estar presente em um julgamento?
Brunetti sabia que o público em geral não encarava a polícia com simpatia. Sabia o quanto a polícia maltratava as pessoas, independente da condição de suspeitas ou testemunhas. Durante anos treinou seus
subordinados para lidar com as testemunhas como pessoas dispostas a ajudar, colegas em certo sentido, mas ao passar pelas salas onde eram interrogadas constatava que elas eram tratadas com prepotência,
eram ameaçadas e ofendidas. Não era de admirar que todo mundo se retraísse temendo a ideia de fornecer informações à polícia. Ele faria o mesmo.
A ideia de almoçar pareceu-lhe intolerável, bem como a de levar aquelas imagens recentes para a mesa da família. Telefonou para Paola, voltou para a questura e lá ficou, fazendo o possível para embotar
sua mente com o auxílio da rotina, à espera do telefonema de Rizzardi. A causa da morte dos dois jovens não seria propriamente uma novidade, mas seria pelo menos informação. Assim, Brunetti poderia incluir
aquilo num arquivo e talvez se reconfortar por ter posto um pouquinho de ordem no caos de uma morte súbita.
Nas quatro horas seguintes ele folheou papéis e relatórios relativos aos dois últimos meses, deixando suas iniciais ao pé das pastas que examinou sem entender. Gastou a tarde naquilo, mas sua mesa ficou
livre da papelada. Chegou ao ponto de levar tudo para a sala da signorina Elettra e, em sua ausência, deixar um bilhete, pedindo que ela providenciasse a entrega dos documentos ao próximo incumbido de
lê-los.
Isso feito, Brunetti foi até o bar na ponte, tomou um copo de água mineral e comeu um toast de queijo. Pegou no balcão a edição diária do Gazzettino e leu, na segunda página, o artigo que tinha plantado.
Como previra, o texto era mais enfático do que ele próprio tinha sido, dando a entender que a prisão era iminente, que a condenação era inelutável e que o tráfico de drogas no Vêneto havia sido desmantelado.
Pôs o jornal de lado e voltou para a questura. Notou, a caminho, que esparsas corolas amarelas de forsítias despontavam acima de um muro do outro lado do canal.
Sentado à sua mesa, consultou o relógio e constatou que já podia telefonar para Rizzardi. Estava para pegar o telefone quando ele tocou.
“Guido”, disse de cara o médico-legista, “quando você foi examinar aqueles jovens, depois que fui embora, lembrou-se de usar luvas?”
Brunetti levou um momento para se recuperar da surpresa e precisou pensar um pouco antes de se lembrar. “Sim. Del Vecchio me deu um par.”
Rizzardi fez uma segunda pergunta. “Você viu os dentes dela?”
Mais uma vez Brunetti precisou repassar mentalmente o que presenciara no local. “Notei apenas que eles estavam intactos, o que não acontece com a maioria dos viciados em drogas. Por que quer saber?”
“Havia sangue nos dentes e na boca”, Rizzardi explicou.
Aquelas palavras levaram Brunetti de volta àquele quarto e aos dois corpos inanimados. “Eu sei. O rosto dela estava coberto de sangue.”
“Aquele sangue era dela”, disse Rizzardi enfatizando o pronome. Antes que Brunetti pudesse questioná-lo, ele prosseguiu: “O sangue que estava na boca era de outra pessoa”.
“De Zecchino?”
“Não.”
“Oh, meu Deus, ela mordeu o sujeito! Você conseguiu o suficiente para…” Ele se interrompeu, pois não sabia ao certo para qual procedimento o material tinha de ser suficiente. Havia lido infindáveis relatórios
sobre a compatibilidade dos testes de DNA, sobre amostras de sangue e sêmen que poderiam ser usadas como provas, mas não tinha conhecimentos específicos para compreender como aquilo funcionava nem curiosidade
intelectual para se importar com tudo que não fosse o fato de que aquilo era possível e que identificações positivas poderiam ser obtidas a partir dos resultados.
“Consegui, sim”, Rizzardi respondeu. “E se você conseguir encontrar a pessoa para mim, disponho do suficiente para comparar o sangue dela com o sangue que estava na boca da jovem.” Rizzardi fez uma pausa
e Brunetti adivinhou pela tensão que corria na linha que ele tinha muito mais a dizer.
“Mas do que se trata?”
“Eles eram positivos.”
O que ele estava querendo dizer? Referia-se aos resultados dos testes? Às amostras? “Não compreendo”, Brunetti confessou.
“Os dois, o rapaz e a garota, eram soropositivos.”
“Dio mio!”, Brunetti exclamou, enfim entendendo.
“É a primeira coisa que conferimos, quando se trata de viciados em drogas. Ele estava muito pior do que ela, o vírus tinha se espalhado. O rapaz foi muito afetado e não iria durar mais do que três meses.
Você não notou?”
Sim, ele havia notado, mas não tinha ligado uma coisa com a outra. Ou talvez não se sentisse disposto a olhar muito de perto ou entender o que viu. Não prestou verdadeira atenção à extrema magreza de Zecchino
ou ao que ela poderia significar.
Em vez de responder à indagação de Rizzardi, Brunetti perguntou: “E a garota?”.
“Ela não estava tão mal como ele. A infecção não estava tão avançada. Foi provavelmente por isso que ela teve força para tentar se defender.”
“E esses remédios novos? Por que não estavam tomando nenhum deles?”, Brunetti perguntou, achando que Rizzardi talvez tivesse uma resposta.
“Ignoro por que não se medicavam, Guido”, disse Rizzardi pacientemente, lembrando-se de que estava falando com alguém que tinha dois filhos um pouco mais jovens do que as duas vítimas. “Nem o sangue deles
nem qualquer outra parte do corpo tinha indícios de que eles estavam tomando o que quer que fosse. Em geral é isso o que acontece com os viciados em drogas.”
Ambos preferiram não se estender sobre aquele assunto. Brunetti perguntou: “E aquela mordida?”.
“Havia muita carne presa entre os dentes dela e quem quer que ela tenha mordido ficou com uma ferida séria.”
“Mas é tão contagioso assim?” Brunetti se admirou de que depois de anos de informações, conversas e leituras de artigos de jornais e revistas, ainda não tinha uma ideia clara sobre o assunto.
“Teoricamente sim. Há casos na literatura de contágios desse tipo, mas eu pessoalmente nunca vi nada. Imagino que é possível. A doença, porém, não é mais aquilo que era antes. Os novos remédios fazem um
bom controle, sobretudo se são tomados nos primeiros estágios.”
Brunetti prestou atenção, imaginando as possíveis consequências de uma ignorância como a dele próprio. Se ele, um homem que lia muito e possuía um conhecimento razoavelmente amplo do que estava acontecendo
no mundo, não tinha ideia do quanto uma mordida podia ser contagiosa e ainda alimentava uma espécie de horror primitivo, atávico, de que a doença poderia ser transmitida daquela maneira, então não se surpreenderia
nem um pouco se aquele medo fosse generalizado entre as pessoas.
Ele voltou sua atenção para Rizzardi. “Mas qual é a gravidade da mordida?”
“Foi uma mordida e tanto, o sujeito deve ter ficado bem machucado.” Antes que Brunetti fizesse outra pergunta ele disse: “Havia pelos na boca da jovem, provavelmente do antebraço do agressor”.
“E qual seria o tamanho da mordida?”
Depois de pensar um pouco Rizzardi respondeu: “Mais ou menos do tamanho da mordida de um cachorro, de um cocker spaniel quem sabe”. Nenhum dos dois comentou aquela bizarra comparação.
“Será que o cara teve de procurar atendimento médico?”
“Talvez sim, talvez não. Se a ferida infeccionou, sim.”
“Ou se eles sabiam que ela era soropositiva, ou ficaram sabendo depois”, Brunetti prosseguiu. Qualquer um, sabendo que tinha sido mordido por uma pessoa infectada, recorreria, aterrorizado, a quem quer
que pudesse tirar a dúvida. Disso Brunetti tinha certeza. Ele avaliou as consequências: médicos teriam de ser convocados, o setor de emergência precisaria ser notificado e seria até mesmo necessário contatar
farmácias a que o assassino poderia recorrer, em busca de antissépticos ou curativos.
“Algo mais?”, Brunetti perguntou.
“O rapaz morreria antes de o verão terminar. A garota poderia durar mais um ano, porém não muito mais.” Rizzardi se interrompeu e acrescentou, com voz inteiramente diferente: “Guido, você acha que isso
deixa alguma cicatriz na gente, quer dizer, as coisas que a gente é obrigado a falar ou fazer?”.
“Meu Deus do Céu, espero que não”, Brunetti respondeu, a voz baixa. Acrescentou que entraria em contato com Rizzardi assim que tivessem identificado a garota e desligou o telefone.
22.
Brunetti telefonou para a sala da equipe dos policiais e recomendou-lhes que ficassem alertas a quaisquer novas notícias sobre uma jovem desaparecida, com cerca de dezessete anos, e verificassem os registros
para ver se um caso com tais características havia sido relatado nas últimas semanas. No entanto, sabia muito bem que era muito provável que ninguém desse pela falta dela. Muitos filhos tinham se tornado
descartáveis, os pais não se preocupavam nem um pouco com suas prolongadas ausências. Não tinha certeza da idade da garota, dezessete anos era só uma suposição, e é claro que torcia para que não fosse
ainda mais jovem. Se fosse, Rizzardi provavelmente saberia, mas ele não queria saber.
Foi até o banheiro, lavou as mãos, enxugou-as e voltou a lavá-las. De volta a sua sala tirou uma folha de papel da gaveta e escreveu em letras maiúsculas a manchete que queria ler nos jornais do dia seguinte:
“VÍTIMA DE ASSASINO SE VINGA COM UMA MORDIDA FATAL”. Releu o que acabara de escrever, pensando, como Rizzardi, que espécie de cicatrizes tudo aquilo deixaria nele. Acrescentou um sinal de inserção entre
“Vingança” e “Com”, acrescentando uma linha acima: “DO ALÉM-TÚMULO”. Examinou o que escrevera, mas decidiu que a expressão adicional tornaria o título comprido demais para se encaixar numa coluna e eliminou-a.
Pegou a caderneta onde mantinha nomes e números de telefone e discou o número da sala do repórter do Il Gazzettino que fazia a cobertura dos crimes. Lisonjeado com o fato de Brunetti ter apreciado a outra
matéria, o repórter, que era seu amigo, concordou em não medir esforços para que a nova matéria fosse publicada na edição matutina do dia seguinte. Disse que tinha gostado da manchete de Brunetti e garantiu
que ela sairia exatamente daquela forma.
“Não quero te causar problemas”, disse Brunetti, em resposta à rápida acolhida do repórter. “Você jura que não é arriscado publicar isso?”
O repórter caiu na risada. “Arriscado publicar algo que não é verdade? Arriscado para quem?” Ainda rindo, ele já ia desligar, mas Brunetti o segurou na linha.
“Tem um jeito de a gente fazer a notícia ser publicada também pelo La Nuova? Quero que ela saia nos dois jornais.”
“Acho que sim. Tem um cara lá que hackeia a gente há anos. Assim eles não precisam pagar um repórter. Vou pôr o texto ali e eles vão usar, principalmente se eu conseguir escrever um troço bem sensacionalista.
Eles não resistem a sangue. O único problema é que eu acho que eles não vão usar a sua manchete”, ele disse, chateado de verdade. “Sempre mudam as manchetes, pelo menos uma palavra delas.”
Contente com aquilo que tinha conseguido, Brunetti aceitou o pequeno senão, agradeceu e desligou.
Para se ocupar com alguma coisa ou talvez só para se manter em movimento, longe da mesa de trabalho, ele desceu até a sala da signorina Elettra, que lá estava muito entretida lendo uma revista.
Ao ouvir o som de seus passos ela pôs a revista de lado. “Ah, o senhor voltou, commissario”, disse, começando a sorrir. Ao notar sua expressão, o sorriso se dissolveu. Fechou a revista, abriu uma gaveta
e dela tirou uma pasta, entregando-a para Brunetti. “Já estou sabendo do que aconteceu com os dois jovens. Sinto muito”, disse.
Ele ficou na dúvida se deveria ou não agradecer as condolências da signorina. Em vez disso pegou a pasta que ela lhe estendia e abriu-a. “Trata-se dos Volpato?”
“Pois é. O que está dentro desta pasta vai fazer o senhor concluir que eles devem gozar de muita proteção.”
“Da parte de quem?”, ele perguntou, dando uma olhada na primeira página.
“Eu diria que é da parte de alguém da Guardia di Finanza.”
“E qual seria o motivo?”
Ela se levantou e se debruçou sobre a mesa. “Veja o que consta da segunda página.” Quando Brunetti a examinou, ela apontou para uma fileira de números. “O primeiro número é o do ano. Vem em seguida o total
da riqueza dos Volpato: extratos bancários, apartamentos e investimentos em ações. Da terceira coluna consta o que eles declararam como renda daqueles mesmos anos.”
“Assim sendo”, Brunetti disse, constatando o óbvio, “eles devem ganhar mais a cada ano, pois com toda a certeza possuem muito mais.” Isso ficava evidente na lista das propriedades, sempre em expansão.
Ele continuou a estudar as listas. Em vez de aumentar a cada ano, as cifras da terceira página diminuíam, embora os Volpato adquirissem apartamentos, casas e empresas comerciais. Incansáveis, continuavam
a adquirir mais e a pagar menos.
“Alguma vez eles passaram pela auditoria da Finanza?”, Brunetti perguntou, apontando para uma logomarca no documento, tão grande e tão vermelha que seria facilmente visível a uma distância tão grande quanto
aquela que os separava do departamento central da Guardia di Finanza em Roma.
“Jamais”, disse a signorina, sacudindo a cabeça e voltando a se sentar. “É por isso que eu afirmo: eles contam com alguém que os protege.”
“A senhorita tem cópias da devolução de impostos do casal?”
“É claro que sim”, ela respondeu com simplicidade, sem disfarçar o orgulho. “As cifras do que eles ganham a cada ano se repetem todos os anos, mas eles conseguem provar que pagaram uma fortuna por melhorias
essenciais nas propriedades, ano após ano, e pelo que parece eles não têm o menor talento para vender com lucro uma única propriedade que seja.”
“E para quem eles vendem?”, indagou Brunetti, embora ele já soubesse de cor aquele roteiro, depois de anos de experiências semelhantes.
“Até agora, entre outras transações, eles venderam dois apartamentos para conselheiros municipais e dois para funcionários da Guardia di Finanza. Sempre tiveram prejuízo, especialmente no caso do apartamento
vendido para o coronel.” A signorina virou mais uma página e apontou para a primeira linha. “Parece que eles também venderam dois apartamentos para um tal de dottor Fabrizio dal Carlo.”
“Ah”, Brunetti suspirou. Desviou o olhar do papel e perguntou: “A senhorita por acaso…?”.
O sorriso dela foi uma bênção. “Está tudo aí: o registro dos impostos pagos pelo sr. Volpato, uma lista das casas que possui, os extratos bancários dele, os da mulher, tudo enfim.”
“E então?”, Brunetti perguntou, resistindo ao impulso de olhar o papel, pois queria que ela sentisse o prazer de contar tudo para ele.
“Somente um milagre poderia protegê-los de uma auditoria”, ela declarou, batucando nos papéis com os dedos da mão esquerda.
“No entanto, os Volpato e Dal Carlo escaparam da auditoria todos esses anos”, ele disse com toda a calma.
“Acho que não vai haver auditoria nenhuma, não enquanto preços como esses estiverem à disposição de conselheiros municipais e de coronéis”, observou a signorina, voltando para a primeira página.
“Sim”, ele concordou, fechando a pasta com um suspiro de cansaço e pondo-a debaixo do braço. “E o que me diz do telefone deles?”
Ela quase sorriu. “Os Volpato não têm telefone.”
“O quê?”
“Eu pelo menos não consegui descobrir. Não consta telefone algum em nome deles ou do endereço de onde eles moram.” Antes que Brunetti pudesse fazer mais perguntas, ela adiantou as possíveis explicações.
“Ou eles são mãos de vaca demais para pagar uma conta telefônica ou então têm um telefonino em nome de alguém.”
Era difícil para Brunetti imaginar que, nos dias atuais, uma pessoa pudesse existir sem telefone, especialmente quem vivia comprando e vendendo propriedades e emprestando dinheiro, com todos os inevitáveis
contatos com advogados, repartições municipais e tabeliães. Além do mais, ninguém poderia ser tão patologicamente frugal a ponto de não ter um telefone.
Ao considerar eliminada uma possível pista de investigação, Brunetti voltou sua atenção para o casal assassinado. “Se a signorina puder, verifique, por favor, o que se pode apurar sobre Gino Zecchino.”
Ela fez que sim. Já conhecia aquele nome.
“Ainda não sabemos quem é a jovem”, ele começou a dizer e ocorreu-lhe que talvez eles jamais viessem a saber. Mas ele não verbalizou esse pensamento, limitando-se a dizer: “Avise-me se encontrar alguma
coisa”.
“Sim, senhor”, ela disse, sem tirar os olhos de Brunetti, enquanto ele saía da sala.
Brunetti decidiu acrescentar alguns dados à desinformação que estaria estampada nos jornais na manhã do dia seguinte, e para isso passou uma hora e meia ao telefone, consultando as páginas de seu caderno
de notas, sondando amigos, solicitando os números dos telefones de homens e mulheres situados nas duas margens da lei. Recorreu à adulação, à promessa de algum favor futuro e algumas vezes à ameaça declarada,
e convenceu inúmeras pessoas a falar em alto e bom som sobre aquele caso do assassino destinado a uma lenta e terrível morte devido à mordida de sua vítima. Em geral não havia esperança, via de regra não
existiam tratamentos, mas algumas vezes — apenas algumas vezes — se a mordida fosse tratada a tempo por uma técnica experimental que estava sendo aperfeiçoada pelo Laboratório de Imunologia do Ospedale
Civile e aplicada no Setor de Emergência, haveria uma chance de sanar a infecção. Caso contrário não havia como escapar à morte e a manchete dos jornais seria verdadeira: VÍTIMA DE ASSASINO SE VINGA COM
UMA MORDIDA FATAL.
Brunetti não sabia se aquilo ia funcionar, sabia apenas que Veneza era a cidade dos boatos, onde uma população acrítica lia e acreditava no que lia, ouvia e acreditava no que ouvia.
Ligou para o setor de atendimento do hospital com a intenção de entrar em contato com o escritório do diretor, mas pensou melhor e pediu para falar com o dottor Carraro no Pronto Soccorso.
A ligação finalmente foi completada e Carraro ladrou seu nome do outro lado da linha. Era ocupado demais para ser incomodado, as vidas de seus pacientes corriam risco se ele se demorasse ao telefone, preso
por qualquer estupidez que alguém estivesse disposto a perguntar.
“Ah, dottore, que bom voltar a falar com o senhor”, disse Brunetti.
“Quem é?”
“O commissario Brunetti”, ele disse, esperando que o médico se lembrasse de seu nome.
“Ah, sim. Boa tarde, commissario”, ele respondeu, o tom de voz mudado da água para o vinho.
O médico parecia disposto a não falar mais nada e Brunetti disse: “Dottore, ao que parece eu poderia prestar-lhe alguma ajuda”. Fez uma pausa, dando a Carraro a oportunidade de fazer perguntas. Como isso
não aconteceu, ele prosseguiu: “Ao que parece, precisamos decidir se comunicamos os resultados de nossa investigação ao magistrado encarregado. Bem, isto é…”, ele se corrigiu, dando uma pequena risada
protocolar, “temos de fazer nossa recomendação, dizer se é o caso de continuar e dar início a uma investigação criminal, por negligência culposa”.
Ele não ouviu nada além da respiração de Carraro do outro lado da linha. “Estou convencido, é claro, de que não há necessidade disso. Acidentes acontecem. O homem teria morrido de qualquer maneira. Não
me parece que seja preciso criar transtornos para você, fazer com que a polícia perca tempo investigando uma situação na qual nada há a encontrar.”
O silêncio perdurava. “O senhor está na linha, dottore?”, ele perguntou, afável.
“Sim, estou sim”, disse Carraro, com outra voz, mais suave.
“Muito bem. Sabia que o senhor ficaria contente ao ouvir minhas notícias.”
“Fiquei, sim.”
“Enquanto o senhor está na linha será que eu poderia pedir-lhe um favor?”, Brunetti perguntou, conseguindo deixar claro que o pedido tinha sido preparado de antemão.
“É claro, commissario.”
“Amanhã ou por esses dias pode ser que um homem compareça ao Setor de Emergência com uma mordida numa das mãos. Provavelmente ele vai dizer que foi mordido por um cachorro ou então que foi a namorada dele.”
Carraro permaneceu em silêncio. “Está me ouvindo, dottore?”, Brunetti perguntou, dessa vez mais alto.
“Sim.”
“Muito bem. Assim que o homem aparecer, peço encarecidamente que o senhor telefone para a questura, dottore. No mesmo instante”, ele enfatizou e deu o número para Carraro. “Se o senhor não estiver aí,
espero que deixe um recado para o seu substituto, para que ele faça a mesma coisa.”
“E o que devemos fazer com ele, enquanto vocês da polícia não chegam?”, Carraro perguntou, já com a voz de antes.
“Retenha-o aí, dottore, minta para ele, invente alguma forma de tratamento que dure o tempo suficiente para chegarmos ao hospital. E não permita que ele saia daí.”
“E se não conseguirmos retê-lo aqui?”
Brunetti tinha poucas dúvidas de que Carraro faria o que ele mandasse, mas achou melhor mentir. “Ainda temos autoridade para examinar os registros do hospital, dottore, e nossa investigação sobre as circunstâncias
que cercaram a morte de Rossi só vai terminar quando eu ordenar.” Ele adotou um tom glacial ao dizer a última frase, aquela completa mentira, fez uma pausa e disse: “Muito bem, conto com a sua cooperação”.
Só lhes restava trocar amabilidades e desligar.
Tudo aquilo deixava Brunetti um tanto inseguro até os jornais chegarem às bancas na manhã seguinte. Sentiu-se também inquieto, algo que sempre temia, pois a inquietação o fazia tomar atitudes precipitadas.
Para ele era difícil resistir ao impulso de meter os pés pelas mãos e bagunçar as coisas. Desceu as escadas e foi até a sala da signorina Elettra.
Ao vê-la com os cotovelos apoiados na mesa, o queixo repousando nas mãos cruzadas, a cabeça inclinada sobre um livro, ele perguntou enquanto entrava: “Estou interrompendo?”. Ela sorriu e descartou aquela
ideia com um ligeiro movimento da cabeça.
“A signorina é proprietária do apartamento?”
Acostumada com o comportamento algumas vezes esquisito de Brunetti, ela não demonstrou a menor curiosidade e respondeu que sim, deixando que ele explicasse o motivo da pergunta, caso quisesse.
Ele tivera tempo para pensar no que dizer, de modo que acrescentou: “Imagino que isso não tenha a menor importância”.
“Para mim importa sim, e muito.”
“Ah, imagino”, ele disse, dando-se conta da confusão que resultaria de sua afirmação. “Signorina, se não estiver ocupada, gostaria que fizesse uma coisa para mim.”
Ela pegou um bloco de anotações, uma caneta, mas ele interferiu.
“Não”, disse ao perceber o que ela estava fazendo, “quero que a signorina vá conversar com uma pessoa.”
Brunetti teve de esperar por mais de duas horas que ela voltasse e assim que chegou a signorina foi diretamente à sala dele. Entrou sem bater e aproximou-se de sua mesa.
“Ah, signorina”, ele exclamou, convidando-a para se sentar. Sentou-se ao lado dela, ansioso, mas em silêncio.
“O senhor não tem o hábito de me dar presentes de Natal, não é mesmo, commissario?”, ela perguntou.
“Não. É o caso de começar a dar?”
“Sim, senhor”, ela disse com muita ênfase. “Espero uma — uma não — duas dúzias de rosas da Floricultura Biancat e acho que uma caixa de prosecco.”
“Posso perguntar quando é que esse presente deve ser entregue, signorina?”
“Para evitar o atropelo do Natal acho que o senhor pode enviá-lo na semana que vem.”
“Sem a menor dúvida. Considere-o dado.”
“É muita bondade, signore”, ela disse, com um gesto gracioso.
“Não é maior do que o prazer que sinto.” Ele aguardou um instante e perguntou: “E então?”.
“Fiz algumas perguntas ao dono da livraria lá do campo, ele me informou onde os Volpato moram e fui conversar com eles.”
“E?”
“Acho que eles são as pessoas mais nojentas que conheci na vida”, ela disse em um tom desinteressado, distante. “Trabalho aqui há mais de quatro anos, já lidei com criminosos, embora os funcionários do
banco onde trabalhei provavelmente fossem piores, mas não existe ninguém que chegue aos pés daqueles dois”, declarou a signorina, parecendo enojada.
“Por quê?”
“Acho que por causa da mistura de ganância e religiosidade.”
“Como assim?”
“Quando disse que precisava de dinheiro para pagar as dívidas de jogo do meu irmão, eles me perguntaram o que eu tinha para dar como garantia e falei que era proprietária de um apartamento. Tentei demonstrar
um pouco de nervosismo, conforme o senhor recomendou. O velho pediu meu endereço, informei, ele foi para outra sala e eu ouvi ele conversando com alguém.”
A signorina se interrompeu um instante e prosseguiu: “Ele devia estar falando num telefonino. Não havia aparelhos telefônicos nas duas salas onde fiquei”.
“E então o que foi que aconteceu?”
Ela levantou o queixo e seu olhar se dirigiu para a parte de cima do armadio, do outro lado da sala. “Quando ele voltou, sorriu para a mulher e foi então que começaram a falar sobre a possibilidade de
me ajudar. Perguntaram de quanto eu precisava e eu disse que era cinquenta milhões de liras.”
Era a quantia com a qual ambos haviam concordado: nem muito nem pouco, apenas aquilo que um jogador poderia perder numa noite de apostas imprudentes e que ele pensaria que poderia recuperar fácil, bastando
para isso encontrar alguém para pagar a dívida. Dívida paga, lá estaria ele de volta à mesa de jogo.
“O senhor conhece essa gente?”, a signorina perguntou, encarando Brunetti.
“Não. Tudo o que sei foi um amigo quem contou.”
“Eles são terríveis”, ela comentou.
“E o que mais?”
Ela deu de ombros. “Imagino que fizeram o que costumam fazer. Me disseram que precisavam examinar a documentação do meu apartamento, embora eu tenha certeza de que ele telefonou para alguém para se certificar
de que eu era a proprietária ou de que o imóvel estava em meu nome.”
“E para quem será que ele telefonou?”
Ela consultou o relógio antes de responder. “Era improvável que alguém ainda estivesse no Ufficio Catasto, então ele deve ter telefonado para alguém com acesso instantâneo aos registros deles.”
“E a signorina tem, não é mesmo?”
“Não, é meio demorado quebrar… ter acesso ao sistema do Ufficio. A pessoa precisaria ter acesso direto aos arquivos para dar na hora para o Volpato a informação que ele pedia.”
“E em que pé as coisas ficaram?”
“Devo voltar amanhã com os documentos. Convocaram o tabelião para ir à casa deles às cinco horas.” Ela fez uma pausa e sorriu para Brunetti. “Imagine só: uma pessoa pode morrer antes que um médico venha
atendê-la em casa, mas eles dispõem de um tabelião disponível vinte e quatro horas por dia.” Só de pensar naquilo ela arqueou as sobrancelhas. “Assim, devo estar com eles amanhã às cinco horas, assinamos
todos os papéis e eles me dão o dinheiro.”
Brunetti nem esperou ela terminar para fazer que não com um dedo. De modo algum permitiria que a signorina Elettra voltasse a se aproximar daquela gente. Ela sorriu, concordando aliviada, conforme pareceu
a Brunetti.
“E os juros? Eles disseram de quanto seriam?”
“Disseram que conversaríamos a respeito no encontro da manhã, que tudo estaria escrito nos documentos.” Ela cruzou as pernas e pôs as mãos no colo. “Isso significa que não precisamos mais falar a esse
respeito”, ela declarou, pondo um ponto final naquele assunto.
Brunetti aguardou um momento e perguntou: “E a religiosidade deles?”.
Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um retângulo estreito de papel, pouco menor do que uma carta de baralho, entregando-o a Brunetti. Era uma espécie de pergaminho falso, nele se via uma figura
de mulher vestida como uma freira, com as mãos e, segundo parecia, os olhos cruzados, em piedosa harmonia. Brunetti leu as primeiras linhas impressas abaixo da imagem — uma oração, a primeira letra um
“Ó” em iluminura.
“É Santa Rita”, disse a signorina após ele estudar a imagem durante um momento. “Ao que parece, é outra santa padroeira das causas perdidas. A signora Volpato se sente especialmente próxima dela, pois
acredita que ela própria também ajuda as pessoas que estão num beco sem saída. Esse é o motivo da especial devoção dela a Santa Rita.” Ela fez uma pausa para refletir sobre aquele prodígio e então achou
oportuno acrescentar: “Ela me confidenciou que venera mais a santa do que a Madonna”.
“Que sorte a da Madonna”, observou Brunetti, devolvendo o cartão à signorina Elettra.
“Ah, não, pode ficar”, ela disse, com um gesto de desdém.
“Eles não perguntaram por que a senhorita não procurou um banco, já que é proprietária de um apartamento?”
“Sim. Eu disse para eles que o apartamento foi dado pelo meu pai e eu não podia correr o risco de ele ficar sabendo de tudo. Se ele fosse ao nosso banco, onde conhecem todos nós, descobriria as jogatinas
do meu irmão. Tentei chorar, quando disse isso para ela.” A signorina Elettra deu um ligeiro sorriso e continuou: “A signora Volpato disse sentir muito por meu irmão, declarou que o jogo é um vício terrível”.
“E a usura não é?”, perguntou Brunetti, mas a pergunta era retórica.
“Aparentemente não. Ela perguntou qual era a idade do meu irmão.”
“O que foi que a senhorita respondeu?”, perguntou Brunetti, embora soubesse que ela não tinha irmão.
“Trinta e sete, e eu disse também que ele joga há anos.” Ela se calou, refletiu sobre os acontecimentos daquela tarde e disse: “A signora Volpato foi muito bondosa”.
“É mesmo? E o que foi que ela fez?”
“Me deu mais um cartão de Santa Rita e disse que rezaria por meu irmão.”
23.
A única coisa que Brunetti fez antes de voltar para casa aquela tarde foi assinar os papéis que liberavam o corpo de Marco Landi, que assim poderia ser enviado a seus pais. Desceu em seguida até a sala
dos policiais e perguntou a Vianello se ele se disporia a acompanhar o corpo até o Trentino. Vianello concordou no mesmo instante, mas observou que, como estaria de folga no dia seguinte, não sabia se
poderia ir uniformizado.
“Vou mudar a escala.” Brunetti não sabia se tinha autoridade para fazer aquilo, mas abriu uma gaveta, em busca do bloco de escalas, enterrado no meio da papelada que chegava até ele toda semana para acabar
ignorada e às vezes até mesmo descartada. “Considere-se de plantão e vista seu uniforme.”
“E se eles perguntarem o que está acontecendo aqui e se realizamos algum progresso?”, Vianello perguntou.
“Eles não vão perguntar, ainda não”, Brunetti respondeu, seguro, ainda que sem uma ideia clara das razões de sua convicção.
Ao chegar em casa, encontrou Paola sentada na varanda com as pernas esticadas e apoiadas numa das castigadas cadeiras de bambu. Ela sorriu para Brunetti e encolheu as pernas. Ele aceitou seu convite e
se sentou diante dela.
“Devo perguntar como foi seu dia?”
Ele afundou na cadeira, sacudiu a cabeça, mas conseguiu sorrir. “Foi um dia como outro qualquer.”
“Repleto de…?”
“Usura, corrupção e cobiça.”
“Como sempre.” Paola tirou um envelope que estava dentro do livro em seu colo e se inclinou, entregando-o a Brunetti. “Acho que isso vai ajudar”, disse.
Ele o pegou e o examinou. Vinha do Ufficio Catasto e ele não via como aquilo poderia ajudá-lo.
Tirou uma carta do envelope e leu seu conteúdo. “Isso por acaso é um milagre?” Leu em voz alta a última frase: “Tendo sido apresentada a documentação suficiente, toda a precedente correspondência enviada
por nosso departamento fica sem efeito por meio deste decreto de condono edilizio”.
A mão de Brunetti, ainda segurando a carta, tombou. “Será que eu entendi direito?”
Paola assentiu, sem sorrir e sem desviar o olhar.
Ele procurou o tom e as palavras corretas antes de dizer: “Talvez você possa ser um pouco mais precisa”.
A explicação dela não se fez esperar. “Pelo que eu entendi, a questão foi encerrada, eles localizaram a documentação necessária e a gente não vai ficar louco por causa disso.”
“Localizaram mesmo?”
“Sim.”
Brunetti olhou para a carta, em que se lia a palavra “apresentada”, dobrou-a e colocou-a dentro do envelope. Enquanto isso pensou como poderia perguntar, e se valeria a pena perguntar alguma coisa.
Entregou o envelope a Paola e perguntou, ainda no comando do tom, mas não das palavras: “Seu pai tem alguma coisa a ver com isso?”.
Observou-a e a experiência disse que ela deveria ter pensado muito se deveria mentir para Brunetti. A mesma experiência viu que ela tinha descartado a ideia. “Provavelmente”, ela respondeu.
“Como assim?”
“Eu e ele conversamos um pouco sobre você.” Ele disfarçou a surpresa pelo fato de Paola ter tomado aquela atitude. “Papai perguntou como você estava, como ia seu trabalho e eu disse que, no momento, você
enfrentava mais problemas do que os habituais.” Antes que ele pudesse acusá-la de ter cometido indiscrições, ela acrescentou: “Você sabe que jamais abordo assuntos específicos com ele ou com quem quer
que seja, mas contei, sim, que você estava mais sobrecarregado do que nunca”.
“Sobrecarregado?”
“Sim. Sobrecarregado por causa do que aconteceu com o filho de Patta e o modo como ele vai se livrar da enrascada.” Ao notar a expressão de Brunetti ela disse: “Não entrei em detalhes, não toquei nesse
assunto, apenas tentei contar para ele que as coisas têm sido muito penosas para você ultimamente. Lembre-se de que moro e durmo com você e portanto você não precisa fazer para mim relatórios diários sobre
o quanto essas coisas o perturbam”.
Brunetti notou que ela se endireitava na cadeira, como se achasse que a conversa havia terminado e se sentisse livre para se levantar e ir pegar um drinque para eles.
“O que mais você disse para ele, Paola?”, perguntou antes que ela se levantasse.
Ela levou um tempo para responder, mas disse a verdade. “Falei a respeito daquele disparate do Ufficio Catasto. A gente não teve mais notícias deles, mas o assunto ainda pairava sobre nossas cabeças como
uma espécie de espada burocrática de Dâmocles.” Brunetti conhecia aquela tática: tirada espirituosa diversionista. Ele não se deixou levar.
“E qual foi a reação dele?”
“Perguntou em que poderia nos ajudar.”
Se Brunetti estivesse menos cansado, menos sobrecarregado por um dia repleto de pensamentos sobre a corrupção humana, provavelmente não tocaria mais naquele assunto e deixaria que tudo prosseguisse à sua
revelia. No entanto, algo — a complacente duplicidade de Paola ou a vergonha que ele sentia diante disso — o levou a dizer: “Eu disse para você não fazer isso”. Logo em seguida ele se corrigiu: “Eu pedi”.
“Eu sei, mas eu não pedi a meu pai que nos ajudasse.”
“E nem precisaria pedir, não é mesmo?”, ele disse, subindo o tom.
“Não sei o que ele fez, sequer sei se ele fez mesmo alguma coisa”, ela respondeu, medindo forças com ele.
Brunetti apontou para o envelope que ela segurava. “Não é preciso ir muito longe para saber qual foi a resposta, não acha? Eu pedi para você não envolver o seu pai nos nossos assuntos, não fazer os seus
apelos para ele recorrer aos amigos e conexões dele.”
“Mas você não viu nada de errado em a gente recorrer aos nossos amigos”, ela revidou.
“É diferente”, ele insistiu.
“Diferente em quê?”
“A gente é peixe pequeno, sem o poder do seu pai. A gente não tem como garantir que sempre vai conseguir tudo o quer. Nem sempre a gente vai poder contornar as leis.”
“Você acha de fato que isso faz diferença?”, Paola perguntou, atônita.
Ele fez que sim.
“Mas então quem é Patta? Alguém como nós ou uma pessoa poderosa?”
“Patta?”
“Sim, Patta. Se para você é certo que pessoas como nós tentem contornar o sistema, mas é errado que pessoas poderosas procedam assim, onde é que Patta se encaixa?” Brunetti hesitou e ela prosseguiu: “Pergunto
porque você não fez segredo da sua opinião sobre o que ele fez para salvar o filho”.
Repentina e incontrolável, a raiva tomou conta dele. “O filho de Patta é um criminoso.”
“Mas mesmo assim é filho dele.”
“Por isso é correto que seu pai corrompa o sistema, porque é em nome da filha dele?” Ele se arrependeu no mesmo instante em que disse tais palavras e o arrependimento superou a raiva, tirando-a de cena.
Paola encarou-o, boquiaberta, como se ele tivesse lhe dado um tapa.
Brunetti falou imediatamente: “Desculpe. Sinto muito. Eu não deveria ter dito isso”. Afundou na cadeira e balançou a cabeça de um lado para o outro. Queria fechar os olhos e fazer com que aquilo tudo sumisse.
Em vez disso levantou a mão, num gesto que exprimia seu pesar. “Sinto muito mesmo. Eu não deveria ter dito isso.”
“De fato, não deveria.”
“O que eu disse não é verdade”, ele tentou se desculpar mais uma vez.
“Não”, ela disse, muito calma. “É por isso que acho que você não deveria ter dito o que disse, porque é verdade. Meu pai fez o que fez porque sou a filha dele.”
Brunetti estava para dizer que a outra parte não era verdade. O conde Falier não poderia corromper um sistema que já era corrupto, que provavelmente tinha nascido corrupto. Limitou-se, porém, a dizer:
“Eu não quero entrar nessa, Paola”.
“Nessa o quê?”
“Nessa briga.”
“Não tem importância.” O tom com que ela se exprimiu era distante, desinteressado, ligeiramente imperioso.
“Ah, para com isso”, ele disse, a raiva voltando.
Os dois se calaram durante muito tempo e finalmente Paola perguntou: “O que você quer que eu faça?”.
“Acho que não há nada que você possa fazer, depois que recebemos esta carta.”
“Imagino que não”, ela concordou. “Mas além disso?”, ela ergueu o envelope.
“Não sei.” Abrandando o tom, ele disse: “Imagino que não dá para pedir a você que retorne aos ideais da juventude, não é?”.
“É o que você quer que eu faça?” Sem dar oportunidade a uma resposta, ela acrescentou: “É impossível, sou obrigada a confessar. Portanto minha pergunta é retórica. É o que você quer que eu faça?”.
Ao levantar, Brunetti se deu conta de que os ideais da juventude deles já não eram mais garantia de paz de espírito.
Foi até a cozinha e voltou logo em seguida com dois copos de vinho Chardonnay. Ambos ficaram sentados durante quase meia hora, sem dizer muita coisa, até Paola consultar o relógio, se levantar e dizer
que ia preparar o jantar. Pegou o copo vazio de Brunetti, inclinou-se e deu-lhe um beijo no rosto.
Após o jantar ele se esticou no sofá, tomado pela esperança de que haveria alguma maneira de manter sua família em paz e de que os terríveis acontecimentos que preenchiam seus dias jamais se sentariam
à mesa da família. Tentou voltar a Xenofonte, mas embora os gregos sobreviventes estivessem muito perto da segurança do lar, achou difícil se concentrar na história deles e impossível se interessar pelos
apuros pelos quais eles passaram havia dois mil anos. Chiara, que apareceu por volta das dez horas para lhe dar um beijo de boa noite, não disse nada a respeito de barcos a vela, mal se dando conta de
que, se tivesse dito, Brunetti teria concordado em comprar para ela o transatlântico Rainha Elizabeth II.
Como ele tinha previsto, ao comprar o jornal a caminho do trabalho, na manhã seguinte, lá estava a manchete na primeira página do segundo caderno do Il Gazzettino. Sentou-se em sua sala e leu toda a matéria.
Era mais horrível e mais alarmista do que ele tinha sugerido que fosse, mas como tantas das invencionices descabeladas que apareciam naquele jornal, parecia muito convincente. Embora o artigo afirmasse
com todas as letras que aquela terapia funcionava apenas em casos de uma possível transmissão por mordidas — as pessoas engoliriam uma sandice desse coturno? —, ele pensou que o hospital corria o risco
de ser invadido por drogados e pessoas infectadas, esperançosos com aquela cura mágica que, segundo se dizia, era praticada pelos médicos do Ospedale Civile e estava disponível, mediante pedidos, no Pronto
Soccorso. No caminho, Brunetti fizera algo que raramente fazia: tinha comprado o La Nuova, torcendo para não ser pego no flagra por nenhum de seus conhecidos. Ali estava, na página 27: três colunas e até
mesmo uma foto de Zecchino, aparentemente o recorte de uma imagem em que ele aparecia no meio de um grupo. Sabe-se lá como, a ameaça da mordida parecia infinitamente mais séria, o mesmo valendo para a
esperança de cura encarnada na terapia oferecida pelo Pronto Soccorso.
Ele estava na sala não fazia nem dez minutos quando abriram a porta. Levou um susto e ficou atônito ao observar o vice-questore Giuseppe Patta, que não hesitou em avançar. Atravessou a sala em segundos
e se postou diante da mesa de Brunetti. O commissario fez menção de se levantar, mas Patta fez um gesto, como se quisesse empurrá-lo de volta, fechou a mão e deu um murro na mesa.
“Por que você fez isso?”, ele disse, aos berros. “O que foi que eu te fiz, para você fazer uma coisa dessas? Eles vão matar meu filho. Você sabe disso. Você devia saber quando fez o que fez.”
Durante alguns instantes Brunetti receou que seu superior tivesse enlouquecido, que o estresse do cargo ou talvez da própria vida o tivesse levado além do ponto em que podia conter suas emoções. Patta
teria quebrado uma barreira invisível; estaria prestes a explodir numa raiva incontrolável? Brunetti tomou muito cuidado para não se mexer ou tentar se levantar.
“E então? E então?”, Patta gritou, apoiando-se na escrivaninha e se inclinando até seu rosto ficar bem perto do rosto do commissario. “Quero saber por que fez isso com meu filho. Se alguma coisa acontecer
com o Roberto você está acabado.” Patta se endireitou, e Brunetti notou que os punhos dele estavam cerrados. O vice-questore engoliu em seco e então disse em tom de ameaça: “Eu fiz uma pergunta, Brunetti”.
Brunetti se recostou na cadeira e cruzou os braços. “Acho melhor se sentar, vice-questore, e dizer do que se trata.”
Se havia algum vestígio de calma naquele rosto, ele desapareceu e Patta voltou a gritar: “Não minta para mim, Brunetti. Quero saber por que você agiu assim”.
“Ignoro a que o senhor está se referindo”, ele disse, dando um pouco de vazão a sua própria raiva.
Patta tirou do bolso do paletó um recorte do jornal do dia anterior e jogou-o com força em cima da mesa. “É disso que estou falando”, disse, apontando para a página. “O texto afirma que o Roberto está
na iminência de ser preso e certamente vai testemunhar contra as pessoas que controlam o tráfico de drogas na região do Vêneto.” Antes que Brunetti pudesse responder, Patta prosseguiu: “Sei como vocês,
nortistas, trabalham, como se fizessem parte de um clubinho secreto. É só telefonar para um amigo qualquer do jornal e ele publica qualquer merda que vocês dão para ele”.
Patta, subitamente exausto, se encostou no espaldar da cadeira em frente da mesa. Seu rosto, ainda vermelho, estava coberto de suor, e quando tentou enxugá-lo Brunetti percebeu que sua mão tremia. “Eles
vão matar o meu filho”, Patta murmurou, com voz quase inaudível.
A descoberta sobrepujou a confusão de Brunetti e o sentimento de ter sido insultado por Patta. Esperou que a respiração dele voltasse ao normal e disse: “Não se trata do Roberto”. Fez o possível para se
manter calmo e continuou: “Trata-se do rapaz que morreu de overdose na semana passada. A namorada dele apareceu, me disse que sabia quem vendia drogas para ele, mas teve medo de revelar o nome. Achei que
a notícia ia fazer o sujeito pensar em vir conversar com a gente voluntariamente”.
Notou que Patta estava ouvindo o que ele dizia; se estava acreditando, ou se fazia diferença ele acreditar, era outra história.
“O que aconteceu não tem absolutamente nada a ver com o Roberto”, ele disse, numa voz neutra e tão calma quanto possível. Refreou a vontade de dizer que, como Patta insistia no fato de que Roberto nada
tinha a ver com o tráfico de drogas, era impossível que aquela nota no jornal o deixasse numa situação de risco. Nem mesmo Patta merecia uma vitória tão fácil. Brunetti não disse mais nada e esperou que
ele se manifestasse.
Decorridos longos minutos, o vice-questore declarou: “Não me interessa saber quem está envolvido”. Sinal de que ele acreditava no que Brunetti acabara de dizer. Lançou para Brunetti um olhar direto e honesto.
“Telefonaram para ele ontem à noite, para o telefonino dele.”
“O que foi que eles disseram?”, Brunetti tinha plena consciência de que Patta acabara de confessar que seu filho, o filho do vice-questore de Veneza, traficava drogas.
“Disseram que não querem mais ouvir falar disso, que é melhor não chegar aos ouvidos deles que o Roberto falou com quem quer que seja a esse respeito ou que foi à questura.” Patta fechou os olhos, mostrando
relutância em continuar.
“Senão?”, Brunetti perguntou em tom neutro.
Após uma longa pausa veio a resposta. “Eles não disseram nada e nem precisavam dizer.” Brunetti não tinha a menor dúvida de que aquilo era verdade.
Surgiu nele, de repente, a vontade avassaladora de estar em qualquer lugar menos naquele escritório. Seria até melhor voltar para o quarto onde estavam Zecchino e a garota morta, pois pelo menos sua emoção
ali tinha sido uma pura e profunda compaixão. Nada a ver com a sensação incômoda de triunfo que se apossava dele diante daquele homem por quem alimentara com frequência o mais absoluto desprezo e que agora
estava reduzido àquele estado miserável. Não queria ficar satisfeito por presenciar o temor e a raiva de Patta, mas era incontrolável.
“Ele está consumindo drogas ou apenas vendendo?”, perguntou.
Patta suspirou. “Não sei, não tenho a menor ideia.” Brunetti concedeu-lhe um momento para que ele parasse de mentir. Enfim Patta disse: “Sim. Cocaína, acho”.
Antes, quando tinha menos experiência na arte de interrogar, Brunetti teria pedido a confirmação de que Roberto também traficava drogas, mas agora encarou aquilo como um fato consumado e fez a outra pergunta
de praxe. “O senhor teve uma conversa com ele?”
Patta fez que sim. “O Roberto está aterrorizado. Quer ir ficar com os avós, mas ele não estaria seguro lá.” Encarou Brunetti. “Aquela gente precisa acreditar que ele não vai abrir a boca. É a única maneira
de ele se garantir.”
Brunetti tinha chegado à mesma conclusão e já calculava o que tinha pela frente: plantar outro artigo no jornal, dessa vez dizendo que a polícia começava a desconfiar que tinha recebido informações falsas
e a bem da verdade não tinha chegado a estabelecer uma ligação entre mortes recentes relacionadas a drogas e a pessoa responsável pela venda dessas drogas. Isso muito provavelmente livraria Roberto Patta
do risco imediato, mas em contrapartida desencorajaria o irmão, primo ou sabe-se lá o que de Anna Maria Ratti a comparecer à polícia para informar o nome da pessoa que lhe vendeu as drogas que mataram
Marco Landi.
Se ele nada fizesse, a vida de Roberto correria perigo, mas se aquela outra história saísse nos jornais, então Anna Maria passaria o resto da vida com uma dor enterrada no peito, a de ter sido, mesmo remotamente,
responsável pela morte de Marco Landi.
“Vou cuidar do assunto”, Brunetti declarou e no mesmo instante Patta levantou a cabeça e grudou os olhos nele.
“O quê?”, perguntou em seguida. “Como?”
“Eu disse que vou cuidar do assunto”, ele repetiu em tom firme, esperando que Patta acreditasse nele e varresse dali qualquer manifestação de gratidão. Brunetti prosseguiu: “Se for possível tente interná-lo
numa clínica”.
Ele notou que Patta arregalou os olhos, indignado com a ousadia daquele subordinado que se punha a aconselhá-lo.
Brunetti queria que tudo fosse rápido. Olhou em direção à porta.
Igualmente indignado com essa atitude, Patta se levantou e saiu.
Sentindo que fazia, até certo ponto, papel de bobo, Brunetti voltou a telefonar para seu amigo do jornal, consciente o tempo todo do tamanho da dívida que estava contraindo. Quando chegasse o momento de
pagá-la — e ele não duvidava de que esse momento chegaria — sabia que teria de sacrificar algum princípio ou transgredir alguma lei. Nada o reteve.
Brunetti ia sair para o almoço quando o telefone tocou. Era Carraro, dizendo que um homem havia telefonado dez minutos antes. Tinha lido a matéria no jornal, aquela manhã, e queria saber se era de fato
verdadeira. Carraro tinha garantido que sim. A terapia era absolutamente revolucionária e a única esperança para quem quer que tivesse sido mordido.
“O senhor acha que é o sujeito que procuramos?”, Brunetti perguntou.
“Não sei, mas ele parecia muito interessado e disse que viria para o hospital ainda hoje. O que o senhor pretende fazer?”
“Estou indo já para aí.”
“O que eu faço se ele aparecer?”
“Retenha-o aí. Não pare de conversar com ele, invente alguma história convincente, mas não o deixe ir embora.” Ao sair, Brunetti passou pela sala dos policiais e ordenou rapidamente que eles designassem
dois deles e providenciassem um barco para conduzi-los sem demora até a entrada do Pronto Soccorso.
A pé, Brunetti levou apenas dez minutos para chegar ao hospital. Lá disse ao portiere que precisava ser conduzido até a entrada do Pronto Soccorso, de tal modo que não fosse visto pelos pacientes à espera
de atendimento. Sua evidente inquietação devia ser contagiosa, pois o portiere saiu de sua sala envidraçada e seguiu com Brunetti pelo corredor principal. Os dois passaram diante da entrada da Emergência,
atravessaram uma porta sem identificação e avançaram por um corredor estreito que dava no posto de enfermagem do Pronto Soccorso.
A enfermeira de plantão encarou Brunetti, surpresa, quando ele surgiu de repente a sua esquerda, mas Carraro devia ter comunicado que esperava alguém, pois ela se levantou e disse: “Ele está com o dottore
Carraro”. A enfermeira apontou para a porta da sala principal de atendimento. “É ali.”
Sem bater, Brunetti abriu a porta e entrou. Carraro, com uma jaqueta branca, inclinava-se sobre um homem alto, deitado de costas na maca, e o examinava. A camisa e o suéter do paciente estavam no encosto
de uma cadeira e Carraro auscultava os batimentos cardíacos com um estetoscópio. Como estava com os ouvidos tampados, não se deu conta da chegada de Brunetti. Mas o homem sobre a maca não deixou de notar
a chegada dele e, como a visão de Brunetti acelerou seus batimentos, Carraro ergueu os olhos para ver o que tinha provocado aquela reação.
Viu Brunetti, mas não disse nada.
O homem deitado na maca não se movia. Brunetti reparou na rigidez de seu corpo e notou que uma onda de emoção invadia seu rosto. Observou também a inflamação no lado externo do antebraço direito. Tinha
formato oval, delineado com extrema precisão.
Brunetti optou por permanecer em silêncio. O homem fechou os olhos e seus braços se afrouxaram. Brunetti notou que Carraro usava luvas transparentes de borracha. Se tivesse entrado naquele exato momento
e visto o homem na posição em que se encontrava, acharia que ele estava dormindo. As batidas de seu próprio coração se aquietaram. Carraro se afastou da maca, foi até sua mesa, deixou ali o estetoscópio
e saiu sem falar nada.
Brunetti se aproximou, mas teve o cuidado de manter uma certa distância da maca. Agora percebia como aquele homem devia ser forte. Os músculos do tórax e dos ombros eram arredondados, firmes, resultado
de décadas de trabalho pesado. Suas mãos eram enormes. Uma delas estava virada para cima e Brunetti ficou admirado de como eram achatadas as pontas daqueles dedos amplos como espátulas.
Algo naquele rosto relaxado denunciava certa ausência. Mesmo quando o homem vira Brunetti e se dera conta de quem ele era, sua fisionomia permanecera um tanto inexpressiva. As orelhas eram muito pequenas.
Com efeito, a cabeça, de curioso formato cilíndrico, parecia ser um ou dois tamanhos menor que o resto daquele corpo volumoso.
“Signore”, Brunetti disse finalmente.
O homem abriu os olhos e fitou Brunetti. A cor castanho-escura fez Brunetti pensar em ursos, talvez mais por causa da corpulência do sujeito. “Ela disse para eu não vir aqui”, falou. “Disse que era uma
armadilha.” Deu uma piscada, fechou os olhos durante um bom tempo, voltou a abri-los e disse: “Eu estava assustado. Ouvi as pessoas comentarem a tal história e fiquei com muito medo”. De novo, aquele longo,
interminável cerrar de pálpebras, tão longo que parecia que o homem viajava para outro lugar, como um mergulhador debaixo das águas do mar, mais feliz no meio daquela grande beleza e relutante em voltar.
O homem abriu os olhos. “Mas ela tinha razão. Sempre tem.” Ele se sentou na maca. “Não se preocupe”, disse para Brunetti. “Não vou machucar o senhor. Preciso que o doutor me dê um remédio e então vou com
o senhor. Mas antes preciso do remédio.”
Brunetti concordou, compreendendo aquela necessidade. “Vou chamar o médico”, disse e foi até a sala da enfermagem, onde Carraro falava ao telefone. A enfermeira não estava mais lá.
Ao ver Brunetti, Carraro desligou e se voltou para ele. “E então?” A raiva estava de volta, mas Brunetti desconfiou que ela nada tinha a ver com o juramento de Hipócrates.
“Gostaria que o senhor desse para ele a vacina antitetânica. Em seguida vou com ele para a questura.”
“O senhor me deixa sozinho na sala com um assassino e agora espera que eu volte lá e aplique a vacina antitetânica? Só pode estar fora de seu juízo normal”, Carraro declarou, cruzando os braços, um signo
visual de sua recusa.
“Creio que não existe nenhum risco, dottore. De qualquer modo ele precisa de uma injeção, por causa da mordida. Ela me parece infeccionada.”
“Ah, então agora o senhor também é médico?”
Brunetti olhou para os pés, respirou fundo e disse: “Eu só estou pedindo que o senhor ponha novamente suas luvas de borracha e vá aplicar a vacina antitetânica no seu paciente”.
“E se eu me recusar?” A beligerância de Carraro era oca, e ele soprou na direção de Brunetti seu hálito de menta e álcool, o café da manhã típico dos bebedores contumazes.
“Nesse caso, dottore”, disse Brunetti com voz mortalmente calma e estendendo o braço como se fosse agarrar o colarinho de Carrara, “eu levo o senhor à força para aquela sala e falo para o paciente que
o senhor se recusa a aplicar a injeção que vai curar a infecção. Em seguida deixo os dois a sós.”
Observou Carraro enquanto falava e concluiu que o médico acreditava no que ele acabava de dizer, o que era suficiente para seus objetivos. Os braços de Carraro tombaram ao longo do corpo, mas ele murmurou
algo que Brunetti fingiu não ouvir.
Ele abriu a porta para o médico e ambos foram até a sala onde o homem estava, sentado na beirada da maca, balançando as compridas pernas e abotoando a camisa.
Carraro foi em silêncio até um armário com porta envidraçada, que estava do outro lado da sala, abriu-o e pegou uma seringa. Abaixou-se e fazendo muito barulho mexeu nas caixas de remédio ali guardadas,
até encontrar a caixa que queria. Tirou dela um frasco pequeno, com tampa de vidro, e foi para sua mesa. Pôs com todo o cuidado um novo par de luvas de borracha, tirou a seringa da caixa e enfiou a agulha
no lacre de borracha do frasco. Encheu a seringa e foi até o homem, que tinha dobrado a manga até a altura do ombro.
Sob o olhar atento de Brunetti, ele estendeu o braço em direção ao médico, virou o rosto e apertou muito os olhos, do jeito que as crianças fazem quando tomam uma injeção ou são vacinadas. Carraro, com
força desnecessária, enfiou a agulha no braço do homem até esvaziar a seringa. Tirou a agulha, dobrou o braço com um gesto brusco, para que a pressão controlasse o sangramento, e voltou para sua mesa.
“Obrigado, dottore”, o homem disse. “É esta a cura?”
Carraro se recusou a responder, de modo que Brunetti teve de dizer: “Exatamente. Agora não precisa mais se preocupar”.
“Nem doeu. Quer dizer, não doeu muito”, o homem disse, olhando para Brunetti. “Temos de ir agora?”
Brunetti fez que sim. O homem abaixou o braço e olhou para o lugar onde Carraro espetara a agulha. O sangramento continuava.
“Acho que seu paciente precisa de um curativo, dottore”, Brunetti disse, embora sabendo que Carraro nada faria. O médico tirou as luvas e arremessou-as em direção à mesa, não se incomodando nem um pouco
quando elas caíram no chão. Brunetti foi até o armário e olhou para as caixas que estavam na prateleira de cima. Uma delas continha curativos de tamanho padronizado. Pegou um deles e foi em direção ao
homem. Rasgou a embalagem esterilizada e ia colocá-lo no local da picada quando o homem levantou o outro braço e fez um gesto, indicando que Brunetti parasse.
“Talvez eu ainda não esteja curado, signore, é melhor eu mesmo fazer isso.” Ele pegou o curativo e, desajeitado, colocou-o sobre a ferida, apertando-o em seguida. Desdobrou o punho da camisa, levantou-se
e se inclinou para pegar o suéter.
Ao se aproximarem da porta da sala de exames o homem parou e olhou para Brunetti. “O senhor sabe, seria terrível se eu tivesse sido contaminado. Seria terrível para a minha família.” Ele inclinou a cabeça,
como se quisesse reforçar aquela afirmação, e deu um passo atrás para que Brunetti fosse o primeiro a sair. Carraro fechou a porta do armário com um gesto brusco, mas o mobiliário fornecido pelo governo
é durável e o vidro não quebrou.
Dois policiais uniformizados estavam no corredor principal. Brunetti ordenara que eles fossem enviados ao hospital e que o barco da polícia os aguardasse no cais. Lá estava Bonsuan, o timoneiro, taciturno
como sempre. Eles saíram pela porta lateral e andaram alguns metros até o barco. O homem manteve a cabeça baixa e os ombros encolhidos, postura que assumira no mesmo instante em que vira os policiais uniformizados.
Andava de um jeito pesado, duro, faltava-lhe fluidez, como se houvesse estática na linha entre o cérebro e os pés. Quando entraram no barco ele se virou para Brunetti e perguntou: “Posso sentar lá embaixo,
signore?”.
Brunetti apontou para os quatro degraus que levavam até a cabine, o homem desceu e se sentou em um dos compridos bancos estofados que se estendiam dos dois lados. Pôs as mãos entre os joelhos, dobrou a
cabeça e ficou olhando para o chão.
Quando atracaram no cais diante da questura os policiais desceram, amarraram o barco no desembarcadouro, Brunetti foi até a escada e anunciou: “Chegamos”.
O homem se aprumou e levantou.
Brunetti cogitou de levar o homem até sua sala a fim de interrogá-lo, mas desistiu ao se dar conta de que uma daquelas salas inóspitas, sem janela, de paredes descascadas e muita iluminação seria mais
adequada para o que ele tinha de fazer.
Com policiais à frente, eles foram até o primeiro andar. Percorreram um corredor e pararam diante da terceira porta à direita. Brunetti abriu-a, o homem entrou em silêncio e parou, olhando para ele, que
indicou uma das cadeiras em volta de uma mesa riscada.
O homem se sentou, Brunetti fechou a porta e se sentou do outro lado da mesa.
“Meu nome é Guido Brunetti, sou commissario de polícia e informo que nesta sala tem um gravador que registrará tudo o que dissermos.” Anunciou a data, a hora e se voltou para o homem.
“Trouxe-o até aqui para interrogá-lo a respeito de três mortes: a de um rapaz chamado Franco Rossi, a de outro rapaz chamado Gino Zecchino e a de uma jovem cujo nome ainda não sabemos. Dois deles morreram
dentro ou perto de um prédio nos arredores de Angelo Raffaele e um deles morreu após cair do mesmo prédio.” Ele fez uma pausa e continuou: “Antes de irmos adiante, tenho de perguntar seu nome e pedir que
mostre algum documento de identidade”. Como o homem continuou em silêncio, Brunetti pediu: “Faria o favor de me dizer seu nome, signore?”.
O homem encarou-o e perguntou com infinita tristeza: “É obrigatório?”.
Brunetti disse, resignado: “Infelizmente sim”.
O homem abaixou a cabeça e ficou olhando para a mesa. “Ela vai ficar tão zangada”, murmurou. Encarou Brunetti e disse no mesmo tom: “Meu nome é Giovanni Dolfin”.
24.
Brunetti procurou por alguma semelhança entre aquele gigante desajeitado e a mulher magra e encurvada que vira na sala de Dal Carlo, no Ufficio Catasto. Não encontrou nada e não ousou perguntar qual era
o laço de parentesco dos dois. Sabia que era melhor deixar o homem continuar a falar, enquanto ele desempenhava o papel de alguém que já sabia tudo que poderia vir a ser dito e ali estava com o simples
objetivo de fazer perguntas sobre pontos laterais e detalhes de cronologia.
O silêncio crescia. Brunetti deixou que ele tomasse conta, maculado apenas pela respiração entrecortada de Dolfin.
Ele finalmente olhou para Brunetti, contrafeito, e disse: “Fique o senhor sabendo que sou conde. Sou o último conde da minha família. Não há ninguém depois de nós, pois a Loredana nunca se casou e…”. Ele
voltou a olhar para o tampo da mesa, que ainda se recusava a lhe dizer como explicar aquilo tudo. Suspirou e retomou a fala: “Não vou me casar. Não estou interessado, não estou interessado na coisa toda”,
disse, fazendo um gesto vago, como se quisesse afastar a “coisa toda”.
“Somos, portanto, os derradeiros da família e assim é importante que nada aconteça com nosso nome ou com nossa honra.” Sem tirar os olhos de Brunetti, ele perguntou: “O senhor compreende?”.
“Sem dúvida.” Brunetti não tinha a menor ideia do significado de “honra”, especialmente para o membro de uma família que tivera um nome a zelar nos últimos oito séculos. “Temos de viver honradamente”,
foi tudo o que lhe ocorreu dizer.
Dolfin balançou a cabeça várias vezes. “É o que a Loredana diz. Ela sempre me diz isso. Para ela a gente não ser rico não tem a menor importância, a gente ainda tem um nome.” Ele se exprimia com aquela
ênfase que as pessoas não raro dão à repetição de frases ou ideias que no fundo não entendem, a convicção tomando o lugar da razão. Segundo parecia, uma espécie de mecanismo tinha sido acionada na mente
de Dolfin, pois ele voltou a abaixar a cabeça e começou a recitar a história de seu famoso antepassado, o Doge Giovanni Dolfin. Brunetti prestou atenção, estranhamente reconfortado por aquela ladainha,
sentindo-se de volta a um período de sua infância, quando as mulheres da vizinhança vinham à casa de seus pais para desfiar o rosário juntas e ele se via envolvido pela murmurada repetição das mesmas preces.
Entregou-se àquelas evocações até ouvir Dolfin dizer: “… durante a Peste, em 1361”.
Só então Dolfin levantou a cabeça e Brunetti fez um gesto de aprovação. “Um nome como o seu é importante”, concordou, pensando que aquele era o caminho certo para fazer com que Dolfin prosseguisse. “Uma
pessoa tem de ser muito cuidadosa para preservar esse nome.”
“Foi o que a Loredana me disse, ela usou exatamente essas palavras.” Dolfin dirigiu a Brunetti um olhar cheio de um respeito nascente. Ali estava outro homem que podia entender as obrigações sob as quais
ambos viviam. “Ela me disse que, especialmente nesse momento, a gente tem de fazer tudo o que está ao nosso alcance para preservar e proteger o nosso nome.” Ele tropeçou nas últimas palavras.
“Sem a menor dúvida, ‘especialmente nesse momento’”, Brunetti declarou.
Dolfin prosseguiu: “A Loredana contou que um homem que trabalha lá no departamento dela sempre teve ciúmes por causa da posição que ela ocupa”. Ao notar que Brunetti não tinha entendido direito, ele explicou:
“Que ela ocupa na sociedade. Ela nunca entendeu por que ele odiava ela tanto. Foi então que ele fez algo com os documentos. Ela tentou explicar, mas eu não entendi. O homem arranjou documentos falsos dizendo
que a Loredana tinha um comportamento condenável, aceitava dinheiro para fazer certas coisas”. Dolfin pressionou as mãos espalmadas sobre a mesa e se ergueu a meio da cadeira. “Os Dolfin não fazem nada
por dinheiro. O dinheiro não significa nada para os Dolfin”, ele acrescentou, quase gritando.
Brunetti fez um gesto com a intenção de acalmá-lo, e Dolfin voltou a se recostar na cadeira. “Não fazemos nada por dinheiro”, ele insistiu. “A cidade inteira sabe. Por dinheiro, nunca.”
Continuou: “A Loredana disse que todo mundo ia acreditar naqueles documentos, ia ser um escândalo. Nosso nome seria arruinado. Ela me disse…”. Ele se corrigiu: “Não, isso eu mesmo sabia. Ninguém precisava
me dizer. Ninguém pode inventar mentiras a respeito dos Dolfin e não ser punido”.
“Percebo”, Brunetti concordou. “Isso significa que o senhor levaria o sujeito até a polícia?”
Dolfin fez com a mão o gesto de afastar alguma coisa, querendo afastar a ideia de apelar à polícia. “Não. Era a nossa honra e assim tínhamos o direito de praticar nossa própria justiça.”
“Entendo.”
“Eu sabia quem ele era. Estive no departamento algumas vezes, para ajudar a Loredana quando ela ia fazer compras de manhã e precisava de ajuda para levar os pacotes para casa.” Ele disse aquilo com um
orgulho inconsciente, era o homem da família anunciando suas proezas.
“A Loredana sabia aonde o homem ia aquele dia, disse que eu tinha de ir atrás dele e tentar conversar com ele. Foi o que fiz, mas ele fingiu que não estava entendendo o que eu dizia e que nada daquilo
tinha a ver com a minha irmã. Ele disse que o problema era aquele outro homem. Minha irmã tinha me avisado que ele ia mentir e tentar fazer com que eu acreditasse que se tratava de outra pessoa na repartição,
mas eu estava precavido. Sabia que ele estava disposto a se livrar da minha irmã porque sentia ciúmes dela.” Ele pôs na cara a expressão que tinha visto outras pessoas usarem quando diziam coisas que ele,
depois, fora informado de que eram inteligentes, e de novo Brunetti teve a impressão de que Dolfin tinha sido ensinado a recitar de cor uma lição.
“E?”
“Ele me chamou de mentiroso, tentou me empurrar, gritou para eu sair da frente dele. A gente estava naquela casa.” Dolfin arregalou os olhos e Brunetti achou que ele estava se lembrando do que tinha acontecido,
mas na verdade a expressão de espanto nascia do escândalo que ele estava para revelar. “Quando falou comigo ele me tratou por tu. Sabia que eu era conde e ainda assim me tratou por tu.” Dolfin olhou de
relance para Brunetti, como se quisesse perguntar se ele alguma vez tinha visto uma coisa dessas.
Brunetti, que nunca tinha visto, balançou a cabeça, como se tivesse ficado atônito.
Como Dolfin parecia disposto a não dizer mais nada, Brunetti perguntou, deixando transparecer sua curiosidade: “E então o que foi que o senhor fez?”.
“Disse para ele que ele estava mentindo para mim e que queria atingir Loredana porque sentia ciúmes dela. Ele me empurrou de novo. Ninguém nunca fez isso comigo.” Do modo como ele falava, Brunetti se convenceu
de que Dolfin pensava que o respeito físico que as pessoas deviam demonstrar por ele se devia mais a uma reação a seu título de nobreza do que a seu tamanho. “Quando ele me empurrou, dei um passo atrás
e meu pé bateu em um cano que estava no chão. Meu pé torceu e eu caí. Quando eu levantei o cano estava na minha mão. Queria bater no sujeito, mas um Dolfin jamais bate em alguém pelas costas e então eu
chamei e ele se virou para mim. Ele levantou a mão, parecia que queria me agredir.” Dolfin parou de falar, mas suas mãos abriam e fechavam, pousadas em seu colo, como se tivessem ganhado vida própria.
Quando ele olhou novamente para Brunetti, ficou claro que um lapso de tempo tinha decorrido na memória dele, porque ele disse: “Ele tentou se levantar. A gente estava perto da janela, e a veneziana estava
toda aberta. Ele que abriu quando entrou. O sujeito engatinhou até a janela e fez força para se levantar. Eu já não estava mais zangado”. Dolfin agora se exprimia com calma, sem paixão. “Nossa honra estava
preservada e assim me aproximei para ver se poderia ajudar o homem. Mas ele estava com medo de mim e assim que cheguei perto dele, que estava de costas para a janela escancarada, deu um passo atrás. As
pernas dele bateram no peitoril da janela e ele caiu para trás. Tentei segurar, tentei mesmo”, Dolfin disse, repetindo o gesto enquanto o descrevia, seus dedos compridos se abrindo e se fechando sem parar,
em vão, no ar vazio. “Mas ele estava caindo e não consegui segurar.” Dolfin cobriu os olhos com a mão. “Ouvi o corpo se chocando contra o chão, foi quase um estrondo. Então apareceu alguém na porta da
sala e eu fiquei muito assustado. Não sabia quem era aquela pessoa e desci a escada correndo.”
“Para onde você foi?”
“Para casa. Já tinha passado da hora do almoço e a Loredana sempre se preocupa quando eu me atraso.”
“Contou para ela?”
“Contar o quê?”
“O que aconteceu?”
“Não quis contar, mas ela adivinhou. Entendeu tudo quando viu que eu estava sem apetite. Então eu tive de contar.”
“E o que foi que ela disse?”
“Que sentia muito orgulho de mim”, ele afirmou, radiante. “Disse que eu tinha defendido nossa honra e que tudo tinha sido um acidente. Ele me empurrou. Juro por Deus que é verdade. Ele me derrubou no chão.”
Dolfin olhou para a porta com nervosismo e perguntou: “Minha irmã sabe que estou aqui?”.
Ao notar que Brunetti balançava a cabeça em resposta, ele levou sua mão imensa à boca e dobrando os dedos bateu repetidas vezes no lábio inferior. “Oh, ela vai ficar tão zangada! Ela me disse para eu não
ir ao hospital, que era uma armadilha, e ela tinha razão. Eu devia ter dado ouvidos a ela. Minha irmã sempre tem razão, sempre teve, em tudo.” Dolfin, com um gesto suave, pôs a mão sobre o local em que
tinha tomado a injeção, esfregando-o ligeiramente, e não disse mais nada.
Seguiu-se um silêncio e Brunetti se pôs a imaginar o quanto havia de verdade naquilo que Loredana Dolfin dissera ao irmão. Agora não duvidava de que Rossi tivera conhecimento da corrupção que reinava no
Ufficio Catasto, mas duvidava de que aquilo dissesse respeito à honra da família Dolfin.
“E o que foi que aconteceu quando o senhor voltou?” Ele começava a se preocupar com a crescente inquietação dos movimentos de Dolfin.
“Quando aquilo aconteceu aquele sujeito que consome drogas estava lá. Ele me seguiu até meu apartamento e perguntou a algumas pessoas quem eu era. Elas me conhecem por causa do meu nome.” Brunetti notou
o orgulho na voz de Dolfin e ele prosseguiu: “Ele voltou para o meu prédio e quando saí para trabalhar me disse que tinha visto tudo. Disse que era meu amigo e queria me ajudar a me livrar de qualquer
problema. Acreditei nele, a gente foi para a casa e começou a limpar o cômodo do andar de cima. Nisso os policiais apareceram, mas ele disse algo para eles e então eles foram embora. Quando eles saíram,
ele disse que se eu não desse dinheiro para ele, ele ia trazer os policiais de volta, mostrar o cômodo, eu ia ficar num grande apuro e todo mundo ia ficar sabendo do que eu fiz”. Dolfin fez uma pausa,
como se estivesse pensando como seria se aquilo tivesse mesmo acontecido.
“E daí?”
“Eu disse para ele que não tinha dinheiro algum, que sempre dava tudo o que ganhava para a Loredana. Ela sabe o que fazer com o dinheiro.”
Dolfin, meio de pé e meio sentado, começou a virar a cabeça de um lado para o outro, como se quisesse que um som se produzisse na sua nuca.
“E daí?”, Brunetti repetiu com brandura.
“É evidente que contei para a Loredana e em seguida nós voltamos para a casa.”
“Nós?”, Brunetti disparou de volta, já arrependido da pergunta e do impulso que o levara a fazê-la.
Até Brunetti falar, Dolfin continuou a mover a cabeça de um lado para o outro. A pergunta de Brunetti ou o tom com que ele se exprimiu o levaram, porém, a ficar imóvel. Ficou evidente para Brunetti que
a confiança de Dolfin nele tinha se evaporado. Dolfin estava se adaptando à descoberta de que estava no campo do inimigo.
Passou-se um minuto e Brunetti perguntou: “Signor Conte?”.
Dolfin sacudiu a cabeça com firmeza.
“Signor Conte, o senhor disse que voltou para a casa com mais alguém. Quer me dizer quem era essa pessoa?”
Dolfin apoiou os cotovelos na mesa e, abaixando a cabeça, cobriu as orelhas com as palmas das mãos. Tão logo Brunetti voltou a falar com ele, Dolfin sacudiu violentamente a cabeça de um lado para o outro.
Com raiva de si próprio por ter empurrado Dolfin para um lugar de onde não havia como trazê-lo de volta, Brunetti se pôs de pé e, consciente de que não tinha escolha, foi telefonar para a irmã do Conte
Dolfin.
25.
Ela atendeu dizendo “Cà Dolfin”, só isso, e Brunetti ficou tão surpreendido por aquele som, como uma trombeta que não emitia mais que notas dissonantes, que só depois de alguns instantes se identificou
e explicou o objetivo de seu telefonema. Se ela ficou perturbada ao ouvir o que ele disse, disfarçou muito bem. Declarou apenas que telefonaria para seu advogado e que iria à questura em breve. Não fez
pergunta alguma e não demonstrou curiosidade quando Brunetti comunicou que seu irmão estava sendo interrogado, devido a uma conexão com um assassinato. Era como se aquele telefonema fosse algo corriqueiro,
um número discado errado, uma anotação equivocada numa caderneta de endereços e nada mais. Não sendo descendente de um Doge, tanto quanto sabia, Brunetti não tinha a menor ideia de como aquelas pessoas
lidavam com um assassinato na família.
Nem cogitou na possibilidade de que a signorina Dolfin tivesse algo a ver com uma coisa tão vulgar quanto o enorme esquema de suborno que Rossi devia ter descoberto nos desvãos do Ufficio Catasto. “Os
Dolfin não fazem nada por dinheiro.” Brunetti acreditava piamente naquilo. Tinha sido Dal Carlo, com sua estudada incerteza diante da possibilidade de que alguém do Ufficio Catasto fosse capaz de aceitar
propinas, o arquiteto do sistema de corrupção que Rossi descobrira.
O que o coitado, simplório, fatalmente honesto Rossi fizera — confrontara Dal Carlo com as evidências, ameaçara denunciá-lo à polícia? E agira assim com a porta aberta para o escritório daquele Cérbero
de casaquinho, com seu penteado e sua paixão infeliz velhos de vinte anos? E Cappelli? Acaso suas conversas ao telefone com Rossi teriam apressado sua própria morte?
Brunetti não tinha a menor dúvida de que Loredana Dolfin já havia instruído seu irmão quanto ao que ele deveria dizer, caso fosse interrogado. Afinal de contas, ela tentara dissuadi-lo de ir ao hospital.
Ela não teria chamado aquilo de “armadilha” se não soubesse como ele levou aquela suspeita mordida no antebraço. E ele, pobre coitado, tinha ficado tão apavorado, achando que podia ter sido contaminado,
que ignorara o aviso dela, caindo na armadilha de Brunetti.
Dolfin tinha se interrompido no momento em que passara a empregar o plural. Brunetti tinha certeza da identidade da segunda parte daquele fatal “nós”, mas sabia que, uma vez que o advogado de Loredana
falasse com o irmão dela, toda chance de preencher aquela lacuna desapareceria.
Daí a menos de uma hora seu telefone tocou e ele foi avisado de que a signorina Dolfin e o Avvocato Contarini haviam chegado. Pediu que eles fossem levados à sua sala.
Ela foi a primeira a entrar, conduzida por um dos policiais uniformizados que estavam de guarda na entrada principal da questura. Atrás dela vinha Contarini, rechonchudo, sempre sorridente, sempre capaz
de localizar a brecha apropriada, de tal modo a garantir que seus clientes se beneficiassem das tecnicalidades da lei.
Brunetti não apertou a mão de nenhum dos dois, limitando-se a convidá-los a entrar em sua sala. Logo estava entrincheirado atrás de sua mesa.
Olhou para a signorina Dolfin, que estava com os pés juntos, ereta como uma flecha, mas sem se recostar na cadeira, e com as mãos dobradas sobre a bolsa. Ela retribuiu seu olhar, mas permaneceu em silêncio.
Parecia ser a mesma mulher que Brunetti vira no escritório do Ufficio: eficiente, envelhecida, interessada no que estava acontecendo, mas não inteiramente envolvida com o que quer que fosse.
“O que o senhor acha que descobriu sobre o meu cliente?”, perguntou Contarini, sorrindo com amabilidade.
“Durante um depoimento gravado hoje à tarde, aqui na questura, ele confessou que matou Francesco Rossi, um funcionário do Ufficio Catasto, onde a signorina Dolfin trabalha como secretária”, Brunetti disse,
inclinando ligeiramente a cabeça para ela.
Contarini parecia não estar interessado. “Algo mais?”, perguntou.
“Ele disse também que voltou mais tarde ao mesmo local, acompanhado de um homem chamado Gino Zecchino, e ambos destruíram as evidências do crime. Disse mais: Zecchino, na sequência, tentou chantageá-lo.”
Contarini e a signorina Dolfin continuaram a manifestar escasso interesse. “Depois Zecchino foi encontrado morto no mesmo prédio, bem como uma jovem que ainda não foi identificada.”
Quando julgou que Brunetti havia terminado, Contarini pôs sua pasta no colo e abriu-a. Remexeu em alguns papéis e Brunetti sentiu os pelos de seus braços se eriçarem ao se dar conta do quanto os gestos
do advogado se assemelhavam aos de Rossi. Com um pequeno suspiro de prazer Contarini encontrou o documento que procurava. “Como pode ver, commissario”, ele disse, apontando para o selo no alto da página,
“aqui está um certificado do Ministério da Saúde, expedido há mais de dez anos…” O advogado aproximou a cadeira da mesa. Quando teve certeza de que a atenção de Brunetti estava voltada para o documento,
prosseguiu: “que declara que Giovanni Dolfin é…”. Ele fez uma pausa, endereçando a Brunetti outro sorriso. Era um tubarão se preparando para atacar a presa. Muito embora o papel estivesse de cabeça para
baixo, Contarini o leu pausadamente: “portador de necessidades especiais e tem preferência no que diz respeito ao preenchimento de vagas de trabalho. Jamais poderá ser discriminado por motivo de qualquer
impossibilidade de executar tarefas além de suas possibilidades”.
Seu dedo deslizou pelo documento até se deter no último parágrafo, que ele também leu em voz alta: “Declara-se que a pessoa acima citada, Giovanni Dolfin, não goza de pleno domínio de suas faculdades intelectuais
e assim não está sujeita aos rigores da lei”.
Contarini fez o documento deslizar pela mesa de Brunetti. Sempre sorrindo, disse: “É uma cópia, para seu arquivo. Imagino que o senhor tem familiaridade com documentos como esse, não é mesmo, commissario?”.
A família de Brunetti era apaixonada por Banco Imobiliário, e ele se viu numa partida: ali estava um cartão Saia da Cadeia.
Contarini fechou a pasta e se levantou. “Gostaria de ver meu cliente, se for possível.”
“Sem dúvida”, disse Brunetti, pegando o telefone.
Os três permaneceram em silêncio até Pucetti bater na porta.
“Tenente Pucetti, leve por favor o Avvocato Contarini até a sala 7 para que ele veja seu cliente”, Brunetti disse, tocado ao constatar que o jovem estava sem fôlego depois de ter subido às pressas a escada,
atendendo à convocação de seu superior.
Pucetti bateu continência, Contarini se levantou e lançou um olhar inquisitivo para a signorina Dolfin, mas ela sacudiu a cabeça e permaneceu onde estava. O advogado disse algumas frases polidas e se retirou,
o sorriso pregado na cara.
Em seguida, Brunetti, que se levantara quando Contarini se foi, voltou a se sentar e encarou a signorina Dolfin, sem nada dizer.
Passaram-se minutos até ela dizer, inalterada: “O senhor sabe que não pode fazer nada contra o meu irmão, pois ele é protegido pelo Estado”.
Brunetti estava decidido a permanecer em silêncio e curioso para ver até onde aquilo a levaria. Não fez absolutamente nada, não pegou objetos em cima da mesa, não cruzou as mãos. Ficou ali sentado, olhando
para ela com expressão neutra.
Passaram-se alguns minutos e então ela perguntou: “O que pretende fazer?”.
“A signorina acaba de me dizer.”
Ambos ficaram sentados como duas estátuas até que finalmente ela declarou: “Não foi bem o que eu quis dizer”. Ela desviou o olhar e voltou a encarar Brunetti. “Não se trata de fazer algo contra o meu irmão.
Quero saber o que o senhor vai fazer com ele.” Pela primeira vez Brunetti viu emoção na fisionomia da signorina Dolfin.
Ele não estava disposto a brincar de gato e rato com ela e assim não fingiu que não estava entendendo o que ela queria dizer. “A signorina se refere a Dal Carlo?”, ele perguntou, sem se incomodar com o
título dele.
Ela fez que sim.
Brunetti ponderou tudo aquilo, sobretudo sua percepção do que poderia acontecer com seu apartamento caso o Ufficio Catasto fosse confinado dentro dos limites da honestidade. “Vou entregá-lo às aves de
rapina”, ele respondeu, com gosto.
Ela arregalou os olhos, espantada. “O que o senhor quer dizer com isso?”
“Vou denunciá-lo à Guardia di Finanza. Eles vão ficar muito contentes de pôr as mãos nas contas bancárias dele, nas escrituras dos apartamentos que ele possui, nas contas em que a mulher dele…” — essa
parte ele disse com deleite especial — “tem dinheiro investido. Assim que a Guardia começar a investigar e oferecer imunidade a quem quer que tenha dado propina a Dal Carlo, ele será soterrado por uma
verdadeira avalanche.”
“Ele vai perder o cargo”, disse a signorina.
“Ele vai perder tudo”, Brunetti corrigiu, forçando-se a dar um pequeno sorriso desprovido de alegria.
Espantada ao notar a malícia dele, ela ficou boquiaberta.
“A signorina quer mais?”, ele perguntou, desolado ao perceber que independente do que acontecesse com Dal Carlo, jamais poderia fazer algo contra ela ou contra o irmão. Os Volpato continuariam no campo
San Luca como aves de rapina, e quaisquer chances de descobrir o assassino de Marco tinham evaporado com as mentiras impressas nos jornais para dar cobertura ao filho de Patta.
Sabendo que ela não tinha a menor responsabilidade quanto ao último ponto, mas ainda assim louco para que ela de alguma forma pagasse, Brunetti prosseguiu: “Os jornais vão publicar matérias juntando tudo:
a morte de Rossi, um suspeito com marcas da mordida dada pela jovem assassinada, livre porque foi declarado mentalmente incompetente por um tribunal, e o possível envolvimento da secretária de Dal Carlo,
mulher de certa idade, una zitella”, ele disse, surpreendido com a força do desprezo com que pronunciou a palavra “solteirona”. “Una zitella nobile” — ele pronunciou a última palavra como quem cospe —
“que estava pateticamente enamorada do chefe, um homem mais jovem, casado”, a voz dele trovejava para sublinhar os adjetivos vergonhosos, “e que calhou de ter um irmão declarado mentalmente incompetente
pelos tribunais e que por isso poderia ser a pessoa suspeita de matar Rossi.” Brunetti fez uma pausa e observou que ela se encolhia, horrorizada. “E os jornais vão aceitar que Dal Carlo estava envolvido
até o pescoço com aqueles assassinatos e ele jamais vai se livrar dessa suspeita. E é a signorina”, ele acrescentou, apontando o dedo para ela, “é a signorina quem vai ter feito tudo isso para ele. Essa
vai ser sua última homenagem ao ingeniere Dal Carlo.”
“O senhor não pode fazer isso”, ela disse, já sem poder se controlar.
“Eu não vou fazer nada, signorina”, ele rebateu, pasmo com o prazer que sentia ao dizer tudo aquilo. “Os jornais é que vão dizer, ou insinuar, mas, venham de onde vier os boatos, pode ter certeza de que
os leitores vão acreditar. E a parte que eles mais vão gostar é o espetáculo dessa zitella nobile meio velha, com uma obsessão patética por um homem mais jovem.” Ele se inclinou e quase gritou: “Os leitores
vão querer mais”.
Ela balançou a cabeça, boquiaberta. Teria suportado melhor uns bons tapas na cara. “Mas o senhor não pode fazer isso comigo. Sou uma Dolfin.”
Brunetti ficou tão espantado que a única coisa que conseguiu fazer foi rir. Encostou a cabeça no espaldar da cadeira e se permitiu dar uma gargalhada. “Eu sei, eu sei”, ele disse, com dificuldade de controlar
a voz em meio às ondas de hilaridade que tomavam conta dele. “A signorina é uma Dolfin e os Dolfin nunca fazem nada por dinheiro.”
Ela se levantou, com a face tão vermelha e perturbada que ele parou de rir no mesmo instante. Agarrando a bolsa com dedos que estalavam de tensão, Loredana Dolfin disse: “O que eu fiz foi por amor”.
“Pois então que Deus te ajude”, disse Brunetti, tirando o telefone do gancho.
Donna Leon
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















