



Biblio VT




Eu estava em casa tomando uma última dose de uísque quando o telefone tocou. Ao tilintar da campainha, não pensei em nada especial — era fim de expediente, a rua lá embaixo já estava apinhada de pessoas, e uma noite de sexta-feira se avolumava no horizonte.
Ultimamente, odeio as noites de sexta-feira. Ando por aí, à toa, procurando companhia como um cachorro faminto procura uma lata de lixo com potencial suficiente para saciar-lhe a fome. Não tenho encontrado nenhum bife suculento, nada disso. Um osso aqui, outro acolá, e desses festins baratos vem sendo feita a minha vida.
Mas, naquele dia, enquanto a tarde se apagava devagarzinho e a sombra da lua já se desenhava no céu; bem, naquele dia eu tinha um compromisso. A promessa de um bom bife, eu diria... Um amigo arranjara um encontro com duas atrizes jovens que estavam encenando uma peça num teatro perto da minha casa. Eu vira os cartazes, elas pareciam bonitas, meu amigo proclamava-as alegres e inteligentes; portanto, aquela seria uma sexta-feira potencialmente boa para mim.
Eu tomava o meu uísque quando o telefone tocou. Creio que já disse isso. Em geral, não acho conveniente abandonar um copo de uísque. Acho uma grande tolice deixar um cubo de gelo derreter-se no malte sem a devida companhia; mas deixei o copo de lado com a intenção de dar um rápido alô, e voltar ao meu confortável fare niente.
Bem, devo dizer-lhes que trabalho em casa há muitos anos, por ser mais cômodo e bastante mais econômico. Ademais, detesto carros e elevadores. Taxistas também me dão nos nervos, e tenho um excelente escritório com ampla vista do parque. É prático, silencioso, higiênico e elegante trabalhar em casa. E meus clientes aprovam: posso recebê-los com uma xícara de chá, um uísque ou um cálice de Porto, conforme a causa das suas tribulações. Afinal, procura-se um advogado pelos mais variados motivos — problemas com o fisco, divórcio, herança, acidente de trabalho e até assassinato. Para alguns casos, convém camomila; para outros, um Cabernet ajuda bastante.
Mas, voltando ao assunto em questão: naquele dia, passava das seis. Achei que era Anna quem me ligava. Os sábados são o meu dia de ficar com Miguel, e Anna costuma me telefonar todo fim de tarde de sexta-feira para ver se mantenho incólume a vontade de gastar minhas preciosas horas de homem desquitado com meu filho único de 5 anos. Sim, mantenho. Apesar das atrizes brilhando no horizonte da minha sexta-feira, o sábado seria de Miguel.
Enquanto tocava, olhei para o telefone com alguma mágoa. Por mais arrojado que um homem possa ser, uma ex-mulher sempre nos deixa um pouquinho nervosos. E quando ela possui a guarda do nosso filho, bem, esse nervosismo só tende a aumentar.
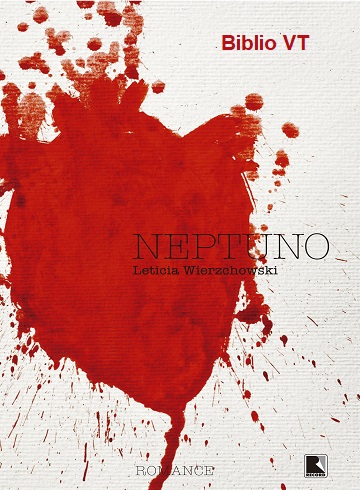
Tomei um gole bastante grande de uísque e, com o estômago acalorado, levantei delicadamente o fone do gancho.
— É o senhor Key? — perguntou a voz do outro lado.
— Sou eu quem está falando. O senhor Key — respondi, surpreso porque ainda não era Anna em mais uma das suas tentativas de surrupiar-me a deliciosa infância de Miguel. — Em que posso ajudá-lo?
A voz (era uma voz masculina jovem, que se distendia suavemente nas vogais) titubeou por um rápido instante, para em seguida acrescentar:
— Aqui quem fala é M. Não sei se o senhor vai se lembrar de mim... O filho de Joaquim Alzamora. Vocês jogavam squash juntos há alguns anos, quando eu era menino.
Houve um silêncio então. Do outro lado da linha, vindo das brumas da minha memória daqueles anos divertidos nos quais eu, um homem solteiro e sem filhos, gastava as manhãs de sábado jogando squash no clube, o jovem M. esperava pacientemente a minha reação.
Comecei a não gostar daquilo. A vida ensinou-me a desconfiar de velhos conhecidos que pulam de repente no nosso pescoço. Alguma coisa eles querem, todos eles. E M. não estava me ligando para perguntar se o meu serviço de direita ainda continua bom como antigamente.
Assim, respirei fundo, lançando um olhar saudoso para o meu copo de Black Label onde o gelo derretia tristemente, e disse:
— O filho de Joaquim... Agora estou me lembrando de você. Um menininho simpático de cabelos castanhos encaracolados. — Soltei um risinho cansado. — Suponho que você cresceu.
— O suficiente — respondeu M. de modo enigmático.
Eu buscava coragem para desligar o telefone a ponto de aproveitar o meu uísque e os últimos momentos da tardezinha de fim de verão, confortavelmente sentado, com os pés à janela.
Do outro lado da linha, M. respirava compassadamente. Parecia estranhamente determinado a alguma coisa. Eu não podia adivinhar o quê.
Decidi, então, ser um pouco brusco.
— Escute — disse, tentando, em vão, alcançar o copo que deixara sobre a escrivaninha. — Foi muito bom ouvir sua voz depois de tantos anos, e espero que Joaquim esteja perfeitamente bem. Porém, eu estava já de saída.
Ouvi a respiração de M. acelerar-se subitamente, e ele disse:
— Mas preciso dos seus serviços, senhor Key.
— Meus o quê?
— Seus serviços profissionais, senhor Key — respondeu M. de forma bastante didática. — O senhor é um advogado. E dos bons, segundo dizia meu pai.
Eu ri. O pai de M. havia se separado da esposa, a mãe de M., fazia alguns anos, e muitos Cabernets tomara em meu escritório desfiando suas agruras conjugais. Desde então, não voltáramos a nos falar.
— Não entendo aonde você pretende chegar — disse. — Sou advogado certamente, e prestei serviços ao seu pai.
A voz do outro lado da linha não titubeou:
— E seria maravilhoso se pudesse prestá-los a mim também — disse M.
Existem dias que não querem terminar. Aquela sexta-feira estava se mostrando realmente teimosa. O telefone queimava em minhas mãos úmidas, e eu me dividia entre a vontade de terminar meu uísque com a devida paz de espírito e a necessidade de falar com Anna, confirmando-lhe meu passeio ao zoológico com Miguel no dia seguinte.
Do outro lado da linha, M. parecia inamovível.
— Posso saber qual é o seu caso? — perguntei, desanimado.
— Claro, senhor Key — disse M. com toda a calma do mundo. E acrescentou: — Eu matei uma pessoa.
Creio que — antes de contar o que veio a seguir (ao ouvir a afirmação de M., amoleci na minha poltrona como um peixe passado demais do ponto) — convém que eu lhes faça uma pequena digressão sobre as origens desse jovem.
Seu pai, Joaquim Alzamora, era um excelente arquiteto de família catalã com certa tendência à obesidade — tendência essa que controlava com rígida dieta e exercícios diários, entre eles o squash. Um tipo original, alegre e excelente connaisseur de vinhos. Casara-se com a mãe de M. num impulso, depois de descobri-la num jantar em casa de amigos, e juntos viveram aproximadamente por dez anos, entre brigas furiosas e fases de paixão avassaladora. Lembro-me de que, certa vez, Joaquim Alzamora chegara ao clube com um pequeno curativo no sobrolho esquerdo e, antes que eu fizesse qualquer comentário a respeito, resmungara apenas: “Infelizmente, as verdadeiras musas possuem um humor dos diabos.”
Elisa e Alzamora viviam às turras, mas creio que se amaram profundamente por vários anos.
M. nasceu nos primeiros tempos desse apimentado casamento. Um garotinho bonito, quieto, e que não se metia em encrencas. Joaquim parecia querer o filho com o mesmo modo distraído com que lidava com todas as outras pessoas, exceto Elisa, a quem, nessas alturas, já sabia amar e odiar em níveis extraordinários.
Passamos alguns anos naqueles joguinhos de squash. Eu tinha uma boa direita e gostava da conversa de Joaquim. Era um homem inteligente, com uma voz de barítono; perfeitamente afinado, Joaquim Alzamora cantava como uma espécie de Orlando Silva. Mas era muito maior do que o Orlando Silva, mais alto e mais bonito, com aquele seu basto cabelo negro bem-apanhado...
Saíamos para beber nas quintas à noite. Alzamora dormia muito tarde, e quando eventualmente eu indicava que precisava partir, pois no outro dia meus clientes apareceriam cedo à minha porta, Joaquim punha-se a rir dos meus melindres. “A vida começa à meia-noite”, dizia.
Todos o conheciam nos bares, e seus arroubos musicais eram recebidos com aplausos. Invariavelmente na segunda garrafa de vinho, punha-se a cantar Lábios que beijei.
Cantava, e todos no bar paravam para ouvi-lo. Eu podia perceber os sorrisinhos tênues das mulheres. Ele tinha muita energia sexual, tinha mesmo. E lá ia Joaquim: “Lábios que beijei, mãos que afaguei, numa noite de luar, assim [...] O mar na solidão bramia [...]”.
Eu ficava no meu canto, observando. Afinal de contas, um homem tem que aceitar os seus limites. Mas, para Joaquim, bastava passar a rede... Nessa época, porém, creio que ele ainda amava Elisa, e muitas mulheres voltavam para casa decepcionadas depois desses showzinhos. Mas, meus amigos, um homem apaixonado é um homem fiel.
No entanto, o tempo faz os seus estragos.
Certa vez, numa dessas bebedeiras, Alzamora confidenciou-me que tinha uma amante no Rio de Janeiro, mas que não conseguia viver sem a sua musa (era assim que ainda se referia a Elisa), e que o menino, M., era-lhe um fardo a mais, um fator excedente naquela já tão difícil equação amorosa na qual a sua vida se transformara.
Alguns meses depois disso, Joaquim Alzamora deixou o squash. Parecia que as constantes viagens profissionais o impediam de jogar. Engordou um pouco, mas seguia sendo o mesmo galã de outrora — era um daqueles tipos espanhóis bem-fornidos que costumam enlouquecer as mulheres. Entrou para uma firma de arquitetura muito importante, ganhou uma conhecida licitação e passou a viajar para o exterior com frequência.
Entre uma viagem e outra, Alzamora aparecia no clube e tomávamos um uísque rapidinho. Certa vez, um tanto acabrunhado, contou-me que deixara a amante carioca, que Elisa se tornara insuportável, que não o inspirava mais a nada, e que todo o grande amor de outrora havia simplesmente se esfumado como uma rima noturna que um autor esquece de apontar na sua caderneta. Falou-me também do menino, que M. era chorão e deveras tímido, que a mãe o estragara com seus constantes mimos.
Eu soube depois que Alzamora havia conhecido Isabel, uma arquiteta que trabalhava na mesma empresa que ele, e que ambos pensavam em se mudar para Barcelona, onde a empresa ganhara uma importante licitação para as obras olímpicas.
Depois disso, fiquei uns três anos sem notícias de Alzamora. Conheci Anna, e nos casamos. Miguel nasceu, e entramos, todos, no avassalador redemoinho da rotina familiar. A coisa toda não durou muito, e logo Anna e eu nos divorciamos. Não foi um processo mais fácil para mim do que costuma ser para os meus clientes, mas, ao menos, foi bem mais simples. Eu conhecia o jargão e conhecia os caminhos. Respirei fundo e mergulhei naquele mar opaco e tristonho.
Fazia pouco que eu viera à tona, quando, numa sexta-feira de junho, Joaquim Alzamora tocou a campainha da minha casa. Lembrar de mim às sextas-feiras parece mesmo uma característica familiar, algum gene que Alzamora legou ao filho. De qualquer modo, ele nunca foi um homem afeito a telefones, e agia por impulso.
Disse que passava perto da minha casa, e então ocorrera-lhe que eu era o homem de que precisava. Tomamos uma garrafa de vinho juntos, e Alzamora me contou que realmente vivera dois anos em Barcelona com Isabel, mas que seguia legalmente casado com Elisa, a quem “não podia suportar por mais de vinte minutos” sem que os dois arrancassem em terríveis discussões que podiam, eventualmente, descambar para a violência física. O filho de ambos, M., crescera e vivia com a mãe. Segundo Alzamora, o menino fora habilmente manobrado por ela para odiá-lo com a devida intensidade.
Mas Joaquim Alzamora não parecia triste — estava mais magro outra vez, mais velho e mais bonito do que antes. Era desse tipo de homem ao qual os anos fazem bem; alguns fios brancos apareciam-lhe discretamente nas têmporas, e o rosto tinha vincos mais profundos, mas seguia forte e intenso, o mesmo belo exemplar masculino que fazia as mulheres suspirarem por aí sempre que soltava sua risada vigorosa, ou chamava o maître, deixando ecoar pelos salões da moda a voz quente que exibia um levíssimo sotaque catalão.
Naquela sexta-feira, pediu-me que o ajudasse com o divórcio.
— “Volver as cinzas de um amor”... — cantarolou ele, citando uma canção que não reconheci na hora. — Volver as cinzas de um amor é a coisa mais vergonhosa que um homem pode fazer, meu caro Key.
Ele citava Cinzas de dor, o Google me diz. Ah, ele já não podia mais com Elisa. O amor transformara-se em amálgama de ódio e ressentimento.
— Portanto — eu disse —, é aqui que eu entro.
— Essa é a sua deixa — brincou Alzamora, secando a sua taça. — O verdadeiro amor não resiste ao tempo. Hoje, entre nós, sobrou apenas a intensidade de outrora. E nós a aplicamos ao ódio.
— Vocês querem um divórcio amigável? — perguntei.
— Litigioso — ele esclareceu. — A pobre Elisa tornou-se uma mulher muito mesquinha. Ela me odeia porque parti. Vai complicar de todas as formas possíveis, já lhe aviso.
Todo o processo demorou uns seis meses.
Nesse período, Alzamora e eu saímos juntos algumas vezes. Muito vinho e algumas canções. Joaquim Alzamora ainda recolhia suspiros femininos; quando voltava sozinho para casa, era somente por opção pessoal. Ele já estava separado de Isabel, e vivia num apartamento nos Jardins em São Paulo, mas vinha à minha cidade com certa frequência, pois estava tentando reaproximar-se de M.
— Um menino carente e fraco — dizia. — Elisa, ao contrário, pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem uma personalidade dos diabos. E é muito culta, você sabe. Nunca a dobrei, nem ela a mim, e talvez esse tenha sido o começo do nosso mútuo ódio. Mas, francamente — ele riu, piscando um olho —, prefiro odiar alguém do que me abster de quaisquer sentimentos. O que é a vida sem o sentir?
— Se todos pensassem como você, o Prozac teria sido um fracasso, Joaquim.
Ele riu, batendo na mesa.
— Idiotas, um bando de idiotas. Prefiro morrer na arena com uma faca entre as costelas, um bom touro sacrificado à Beleza, do que viver como uma ovelha tosqueada, com a barriga cheia de pasto. E aquele menino, o meu filho, que boa ovelha me saiu.
Hoje, lembrando desse nosso encontro, espanto-me que Alzamora tivesse se enganado tanto a respeito do filho, e também de Elisa. A mulher, depois do divórcio, pareceu perder sua seiva vital, e M...
Bem, o jovem M. era um caso clássico de — como dizer? — lobo em pele de ovelha. Mas Alzamora teria apreciado um lobo; teria, até mesmo, alcançado-lhe a carne crua. M., porém, soube ir à caça perfeitamente sozinho e, ao que parece, não voltou de mãos abanando.
Depois de algumas audiências e gritos, o divórcio de Elisa e Alzamora finalmente saiu. Ele assinou os papéis com a circunspecção devida e, ao abandonarmos o fórum, não parecia nem aliviado, nem feliz.
— Pensei que você estaria contente — disse-lhe, quando entramos no carro.
Alzamora deu de ombros.
— Reconheço quando encontro um oponente à minha altura... E Elisa ainda segue sendo uma bela mulher. Entenda, sinto-me triste pelo que tivemos e se acabou.
Eu achei graça.
— Você é bastante peculiar, Alzamora. Você e Elisa não vivem juntos há mais de quatro anos. Eu vi como vocês se fuzilavam com os olhos.
Ele acendeu um cigarro e tragou a fumaça longamente. Não sabia que fumava.
— Bem, se Elisa voltar a casar, por favor, não me comunique — disse ele e jogou o cigarro aceso pela janela.
— Para isso, você sempre terá o seu filho — atalhei.
E Joaquim Alzamora soltou um suspiro.
— Talvez Elisa não se case justamente por causa de M. Eles têm uma relação estranha, aqueles dois... Mas o menino não é de todo mau. Muito aguado, mas palatável. E você sabe que eu nunca apreciei uma xícara de chá.
Ah, que estranhos caminhos a vida tem!
Naquela tardinha, nós dois rimos enquanto o carro seguia pela avenida congestionada, no trânsito pesado do fim do dia. Ainda tomamos uma taça de espumante juntos no bar do hotel onde Alzamora se havia hospedado, e ele manteve-se num estado de espírito bastante fugidio. Naquele dia, não cantarolou nenhuma música.
Depois nos despedimos como velhos amigos e, uma semana mais tarde, Alzamora embarcou para a Europa, dizendo que passaria uma longa temporada de trabalho em Berlim.
Nisso se resume o meu conhecimento da história familiar de M. O resto são fatos. Mas entendo que os fatos não têm o poder de moldar uma personalidade — é a substância tênue, discreta e fundamental que os une, como o cimento entre os tijolos, o que realmente infere na formação de uma pessoa.
Um riso, uma história contada e recontada através dos anos, um beijo roubado numa praça ao entardecer, uma caixa de retratos, um modo de apoiar a perna, uma tarde cujas horas não ficaram registradas em nenhuma fotografia, essas são as verdadeiras coisas que nos compõem. Nada que possa ser usado como prova robusta num processo. Somos feitos do impalpável, e, como todos nós, também o jovem M.
Voltamos, assim, ao telefonema que recebi naquela sexta-feira de março. Estou diante do meu próprio estupor após tão horrível e misteriosa confissão.
Quando me afirmou ter cometido um assassinato, depois de garantir por várias vezes que não mentia, pedi a M. que viesse ter comigo imediatamente. Perguntei-lhe onde andava Elisa, e M. disse que ela havia viajado em companhia de uma amiga, porque não andava muito bem dos nervos. Em face disso, achei melhor mantê-la na ignorância por mais um dia ou dois, até que eu mesmo pudesse entender e comprovar a história que aquele jovem me contava. Além de tudo, Alzamora estava no exterior e, segundo me tinham contado, arranjara nova esposa por lá, e tanto a consciência profissional como meus brios humanitários obrigavam-me a dar conta, num primeiro momento, daquela situação.
Minha noite de sexta-feira mudou de figura de uma hora para outra. Imaginem, meus caros, como eu me sentia estranho. Não é todo dia que o filho de um amigo telefona para a gente afirmando ter cometido um assassinato. Sim, em algum lugar, segundo M., havia um cadáver...
Tentei juntar as descrições esparsas e emocionadas de Alzamora com a ideia de um jovem matador de 19 anos, agoniado pelo ciúme e assombrado pelo peso avassalador de uma primeira paixão. Mas alguma coisa não se encaixava — um menino silencioso, quase passivo, segundo dissera Alzamora. A voz de M. não me revelara absolutamente nada, a não ser a sua urgente necessidade, entre todos os advogados da cidade, de vir ter comigo, exatamente comigo.
Mas isso não é um arrazoado jurídico, não é mesmo. Procedo como advogado para ganhar o meu sustento; ao fim do mês, Anna espera a sua pensão, Miguel espera que o próximo mês seja igualzinho ao anterior, e eu faço girar a roldana dos dias com o meu próprio suor. Uma espécie de cavalo, eu diria. Um cavalo pensante.
Por mais profissional que eu venha a ser com os meus clientes pagantes, porém, a confissão do jovem M. estava muito além disso. Ele despertara em mim uma coisa mais profunda, impalpável. Ele despertara em mim o gosto por uma boa história, pelo inusitado, assustador — e até mesmo terrível — dom humano para a tragédia.
Quando abri a porta, M. estava parado no hall de entrada do meu apartamento. Tinha o olhar perdido em algum devaneio e gastou alguns segundos até fixá-lo em mim.
Não podia ser menos parecido com um assassino... Belos olhos amendoados e escuros, iguais aos de Alzamora, cabelos cacheados que guardavam ainda uma certa maciez infantil, um corpo delgado e sadio, de braços finos e mãos imponentes — pareciam as mãos de um pianista, e eram frias quando ele tocou-me num cumprimento nervoso.
Era um jovem muito bonito, com uma certa delicadeza que o pai outrora me descrevera — parecia mesmo um menino criado por mulheres, mas também era óbvio que estava à beira de um recomeço, que se fazia homem: no rosto de uma beleza quase impúbere crescia a sombra de uma barba. A voz era macia, quente, uma declinação da própria voz máscula que Alzamora usava nas canções de amor.
— Entre — eu convidei, meio confuso com aquilo tudo.
E, homem adulto, experiente, de repente eu não sabia como me colocar diante daquele menino. O filho de Alzamora, uma criança que eu acompanhara de esguelha ao longo dos anos mas que me parecia tão íntima como as velhas sombras da nossa própria infância.
Eu também tenho um filho, já lhes contei. Um menino de 5 anos, doce e engraçado, curioso e macio. O jovem filho de Alzamora ainda guardava em si alguma coisa do menino de outrora, o menino que ficava sentado numa cadeira, tomando sua Coca-Cola enquanto o pai e eu jogávamos squash... Olhando-o, pensei em Miguel, no longo futuro que teria diante de si, e me senti um deus impotente, absolutamente incapaz de guiar meu filho até o seu destino, seja ele qual for.
O jovem M. estava diante de mim. O que quer que tivesse feito, ou por quê, M. fizera-o sozinho. Nada de divino o guiava, e parecia até mesmo frágil, parado ali naquela noitinha cálida e estrelada.
Era difícil associá-lo à ideia do assassinato, e eu não achava um jeito de começar o assunto. M. olhou-me por um momento, ao adentrar a soleira da minha porta, e seus vívidos olhos escuros pareciam dizer: agora que entrei, não há volta, faço parte da sua vida, eu e meu segredo terrível, e você não poderá me mandar embora.
Olhei-o por um longo momento. Tinha, insinuante e poderosa, a mesma força atrativa de Alzamora, só que ainda incipiente, uma energia que lhe brotava das entranhas, como lhe brotavam os pelos na cara. Imaginei que essa força intangível, que ele ainda não aprendera a dominar de maneira eficiente, seria a culpada pelos excessos que o rapaz haveria de cometer até a sua plena maturidade.
De fato, havia vida nele, e uma certa ânsia. Mas M. não parecia muito nervoso, o que eu também sabia ser comum nesses casos. Como dizem por aí, talvez a ficha ainda não tivesse caído.
— Você gostaria de beber alguma coisa? — perguntei-lhe quando entramos no meu escritório e fechei cuidadosamente a porta, mesmo sabendo que estávamos a sós.
— Uma Coca-Cola, por favor.
Uma resposta absolutamente prosaica, que me fez rir. Mas minhas mãos tremiam ao manusear o abridor.
M. tomou o refrigerante em grandes goles. Fazia ainda calor lá fora; o verão aqui, nessas paragens, teima muito em ir embora. O filho de Alzamora, porém, parecia bastante fresco, como se tivesse saído de um banho.
Enquanto M. dava conta da Coca-Cola, sem muita pressa para começar a sua historinha de horror, pus-me a devanear... Talvez ele estivesse, ainda há pouco, sujo de sangue, descomposto e desesperado; talvez tivesse escondido o corpo da sua vítima em algum lugar maluco, para então proceder ao telefonema que me fez. Ou não... M. teria matado sua vítima há dias e, estando sozinho em casa e sem a necessidade de dar satisfações a ninguém, por conta da viagem da mãe e da longuíssima ausência paterna, gastara esse tempo armando um plano, uma história em sua defesa, a qual haveria de despejar toda em cima de mim nos próximos minutos.
Lá fora, a noite crescia. A luz branca da lua descia sobre a cidade, acarinhando a copa das árvores do parque diante do meu prédio.
M. olhou aquela luz um instante e disse:
— Não sei bem como começar, senhor Key. Estou muito confuso.
Eu também estava deveras confuso, meu Deus. Mas apenas sorri de mansinho. M. parecia olhar com assombro a beleza da vida lá fora, e, pela primeira vez, enquanto seus olhos se perdiam na rua e nas alamedas do parque, pude perceber um laivo de desespero dentro deles.
Gosto de analisar as pessoas assim. Nos momentos menos importantes, nas pausas. Nunca no que é dito, mas naquilo que se suprime. Como quem aprecia o brilho de uma estrela, mais vale olhar a coisa de viés. No caso de M, isso era bastante óbvio para mim... Fixando-o de frente, assim como qualquer estrela tem o seu brilho reduzido, não veríamos mais do que um jovem enamorado, numa encruzilhada da vida, depois de ter dado um terrível passo em falso.
Sim, pois M. titubeava.
Não era cônscio nem da própria beleza, da boa aparência que herdara do pai, amainada e temperada pela herança materna, nem da simpatia que a sua figura podia angariar. Por um momento, pensei que Alzamora tinha julgado o filho muito mal. Era um jovem aparentemente encantador. Não era efeminado, nem parecia haver sido criado com mimos além da conta. Via-se que sofria, e o seu silêncio, amparado no meu sorriso gentil, começava a pesar-lhe muito mais do que para mim.
M. olhou-me, angustiado, e eu disse então:
— Veja, rapaz, não recebo um telefonema como o seu com muita frequência. Na verdade, é o primeiro do tipo. Eu atuo na vara de família, como você deve saber. Cuidei do divórcio do seu pai.
M. aquiesceu, olhando o tapete por um momento. Então me mirou, balançando os ombros devagar, acuado.
— Mas eu só conheço o senhor. Quer dizer, minha mãe tem um advogado. Mas o senhor é amigo do meu pai. Tem que ser o senhor — disse ele, enfático.
— Gosto muito do seu pai, e é por isso que eu o recebi aqui hoje. Mas você precisa falar, M. Não quero e não vou adivinhar a sua história. Vamos, comece do começo.
Ele sorriu discretamente, retorcendo as mãos de longos dedos pálidos. O sorriso era o mesmo da mãe, mas todo o resto parecia ter vindo de Alzamora.
E a voz, quando M. começou, finalmente, a narrar-me a sua prodigiosa aventura de êxtase e de agonia, pareceu-me exatamente a mesma voz de Joaquim Alzamora, a voz bonita e melodiosa, forte e ao mesmo tempo melíflua com que ele desfiava as suas furiosas canções de amor.
2
M. conheceu June numas férias que passara na casa dos avós maternos. Ele lembrava-se do exato dia em que a vira pela primeira vez...
Não fora esse apenas mais um dia imerso no contexto dos dias da sua vida; ao contrário, a inesquecível e radiante tarde de verão em que enxergara June sentada no parapeito da janela de uma casa no fim da rua dos avós vibrava, onipresente, no topo do oceano vagamente pálido da sua vidinha besta.
Sim, meus caros, pois M. tinha uma vidinha besta. Uma mãe ocupada demais com as suas próprias angústias, que primeiro contava as horas para tomar seu antidepressivo e depois contava as horas para o primeiro martíni. O pai vivia longe, e, de qualquer modo, eram muito distantes um do outro. M. tinha alguns amigos, mas nenhum com relevância suficiente para ajudá-lo, e, de fato, o rapaz esteve sozinho durante todo o calvário do seu amor. Ele estudava, mas a universidade não significava muito. Estava indeciso, em cima do muro, exausto, aos 19 anos.
Descobrir June naquela tarde, com seu levíssimo vestido de verão, no exato instante em que um vento mais forte vindo do mar agitou-lhe os cabelos escuros, era um acontecimento maior do que tudo. Não apenas um episódio com as suas devidas e terríveis consequências... Pois, quanta beleza e assombro havia em June! As pernas douradas, balançando ao sabor das horas vespertinas, à espera de uma nuvem, ou um príncipe, ou o sorveteiro, ou a bomba de nêutrons...
June parecia esperar alguma coisa, calma e serenamente, deixando que o vento dançasse ao seu redor, brincando com os fios do seu belíssimo cabelo, acarinhando as dobras do seu vestido curto, os pelos quase invisíveis, de tão delicados, que lhe recobriam as pernas delgadas.
E June, sem mesmo sabê-lo, esperava por ele.
Era um momento-chave, crucial, no antes e no depois dos seus dias, tanto os de M. como os de June.
Evocando essa tarde, o jovem M. me disse, sorrindo tristemente:
— A minha vida começou ali.
Estranhei que ele falasse daquela maneira. Como um velho... Como se o tempo tivesse passado e ele se debruçasse sobre os séculos.
Enfim, cada um lida a seu jeito com as próprias reminiscências. De qualquer modo, ele era um garoto inteligente, com um falar delicado, quase literário. Descrevera-me de forma muitíssimo inspirada o primeiro instante do seu primeiro amor.
Havia mais, no entanto.
O fim da história, meus caros, não era nada romântico, e eu temi pela imagem bucólica e inocente que fizera da garota no parapeito da janela. Ah, June. Você me enganou direitinho no começo... Assim como M., eu me vi enredado na sua trama, torcendo por você; eu diria, até mesmo, ansiando por você.
Não sei bem por quê, mas resolvi interromper a narrativa do jovem M. Ele olhou-me, os grandes olhos escuros luzindo, quase agradecido pela minha intromissão.
— Você gosta de livros? — foi a minha pergunta.
Era uma pergunta estranha, eu sei. Mas ele falava de um jeito... Parecia um autor às voltas com o seu enredo. Apaixonando-se pelas próprias palavras, pelo clima.
M. suspirou fundo e, depois de um momento, respondeu-me:
— Eu leio bastante, senhor Key.
Disse-me que apreciava Somerset Maugham, Graham Greene, John Fante, Salinger e Tennessee Williams. Ao meu ver, tinha muito bom gosto, atrevo-me a dizer aqui. Sou um leitor dedicado, um homem que vem abandonando a vida social para se entregar aos livros. Já fiz muita coisa lá fora, se é que vocês me entendem... Muita coisa mesmo, até que afundei o meu casamento. Agora venho tentando ser um bom pai, e um bom leitor. As duas coisas na medida do possível, e não necessariamente nesta ordem.
Bem, preciso dizer-lhes que eu abri um sorriso diante da lista de autores prediletos do jovem M. Eu simpatizara com o rapaz, e essa simpatia, tornada clara e inequívoca como uma maçã sobre uma mesa, espantava-me um pouco. Além do mais, tínhamos gostos parecidos no que se referia à literatura: saibam que eu aprecio muitíssimo o teatro de Tennessee Williams.
Mas, voltemos ao ponto.
M. listou-me alguns dos seus autores prediletos, e eu sorri. Não que eu tivesse achado graça da coisa, eu apenas regozijava-me.
Então o rapaz perguntou, simplesmente:
— Por que você acha graça?
Dei de ombros. Disse-lhe que eu também gostava de livros. M. ergueu os olhos e pousou-os na enorme estante repleta de volumes que ocupa um dos lados do meu escritório.
— Eles não estão aqui apenas para decoração — eu acrescentei.
— Na minha casa, estavam — retrucou o jovem. — Meus pais queriam ser cultos. Então compravam muitos livros. Livros que nunca foram lidos.
— Até que você cresceu o suficiente para alcançar as prateleiras — disse eu, sorrindo.
— Bem, não acredito que meus pais sequer tenham percebido isso. Que eu gostava de ler e lia os livros deles... Imagino que o senhor saiba que meu pai mora longe. Mora longe o suficiente para me ligar uma vez por mês, mais ou menos. Joaquim Alzamora e eu quase não nos falamos, senhor Key.
Pensei em Alzamora e na sua vida europeia. De certo modo, ele achara o filho indigno da sua atenção. Mas todos os grandes homens sabem ser egoístas, e Alzamora era um arquiteto de grandíssimo talento, que vivia para os seus desenhos e plantas.
— Bem, meu caro, não me cabe julgar o seu pai.
M. olhou a rua por um instante. O parque lá embaixo era uma massa negra e silenciosa, uma mancha na noite luminosa da cidade.
Então ele me disse, sorrindo:
— O senhor não julga, senhor Key. Esse não é o papel de um advogado... E é por isso que estou aqui.
Era um menino inteligente, era sim. Mas as cartas estavam nas minhas mãos, e eu poderia encerrar a partida a qualquer momento.
— Pode continuar a sua história — eu falei.
M. então voltou ao seu lugar, sentando-se diante de mim. Por um longo momento, manteve-se calado, pensativo, de olhos fechados. Era como se mergulhasse no mar sobrenatural das suas próprias recordações.
Embora suas mãos permanecessem quietas sobre os joelhos, ele sentava-se na ponta da cadeira, perfeitamente ereto, como se o contato da madeira com o seu corpo lhe produzisse alguma sensação desagradável e ele cogitasse a hipótese de pôr-se de pé no próximo instante.
Enfim, buscando a voz que se enovelara no fundo do seu peito, ele continuou a narrar-me a sua história.
Coisa alguma que vira ou conhecera antes da fatídica tarde em que depusera seus olhos em June pela primeira vez importava ao jovem M.
June estava encarapitada numa janela comum, numa casa comum de uma trivial cidadezinha costeira. Mas nada que havia em June, nada que luzisse em sua figura poderia jamais ser usual. Ela era um desses casos de opera-prima em moldura ordinária. Era um sopro, uma visão, a cintilância materializada, carnalizada, feita menina, com a sua inocência fajuta, com seus olhos de promessa, com seu riso vivo e extraordinário.
Pois M. jamais haveria de se esquecer de cada mísero detalhe daquela tarde, das frugais e medíocres particularidades de cada instante do dia em que vira June pela primeira vez... Era verdade que o amor estava lá, esperando entre os juncais que levavam à praia, ardendo nas flores que nasciam nas frestas entre as lajotas azuis da calçada, chamando aqueles dois jovens a uma aventura marcada pelo êxtase da descoberta e pelo sofrimento do ciúme mais atroz.
Tudo o que M. vivera (essa era a sua mais furiosa impressão), tudo que sentira, comera, excretara, lera, suportara e sofrera até aquela tarde de janeiro tinha sido — não vida, não latência, nem conforto ou necessidade — apenas uma espécie de ponte, de caminho que o levara, do mais vasto nada, até o ponto nevrágilco da sua existência: June.
E ele? Bem, meus caros, ele era o neto da vizinha, quatro anos mais velho, um jovem que cursava o segundo ano de uma universidade na capital, que corria quatro quilômetros por dia, que lia Tennessee Williams e John Fante, que se parecia com o pai, que tinha olhos escuros, a boca larga, mãos blandiciosas e um certo encanto que bastara para despertar os hormônios daquela menina precoce.
Ah, sim! Os avós da bela June eram amigos dos avós do nosso jovem. Amigos e vizinhos, e parece que a menina morava mesmo com os avós havia algum tempo, porque a mãe, uma professora universitária que engravidara muito cedo e que decidira ter sua filha sozinha, lecionava numa universidade no interior do país.
June vivia à beira-mar, nada mais natural. E quando andava, quando seus negros cabelos longos dançavam ao gingar das suas pernas, dela emanava um vago e suave olor de maresia. E a sua indolência, o jeito manso e cadenciado do seu andar, o brilho fugidio do seu sorriso, tudo nela tinha um caráter marinho.
Ela vinha em ondas, e às vezes recuava como as marés.
Agora sigam comigo. Eu uso aqui as indicações do nosso jovem Romeu, uso-as como quem lê um mapa. É preciso, neste exercício de fantasia, abdicar dessa imagem gasta do que vem a ser a beleza feminina, certa palidescência, certas protuberâncias, algo de renda, alguma sombra, os peitos grandes.
Não é nada disso, meus caros...
Estamos em outro país, em outro romance, eu diria até. Algo no clima de Lewis Carroll ou Nabokov. Uma coisa mais fresca, recém-arrancada do pé. June era muito mais do que recheio para roupa íntima, ela era arte. Um filme de Fellini. A perfeita imperfeição.
Uma descrição detalhada de June deveria começar pelos seus olhos. Azuis. Redondos como moedas. Olhos de um ávido azul, para ser mais claro.
Esses dois globos oculares estavam encravados nos zigomas de uma face alongada, bronzeada de sol. E June tinha sardas, minúsculas sardas douradas que pareciam pó de ouro. A boca era carnuda, cor de romã, e escondia pequenos dentes brancos e afiados. Dentes que tinham deixado a sua marca no braço de M., o desenho oblongo e pontilhado, arroxeado e estranho como um hieroglifo desconhecido de alguma civilização há muito esquecida.
De resto, June era uma menina crescida demais. Tinha um corpo delgado, de onde brotavam promessas. Ela andava suave e cadenciadamente. E tinha aquelas pernas longas, perfeitamente lisas... Na fotografia que eu vi, a única que M. possuía, June era como um desses bichinhos silvestres e raros, e um brilho de ingênua teimosia ardia nas suas retinas azuis. Era como se ela soubesse; era como se ela soubesse e, mesmo assim, quisesse pagar para ver.
É perfeitamente sabido por qualquer leitor que um bom narrador conta uma história a partir de qualquer ponto. O sucesso de uma narrativa em nada depende da cronologia, mas para tal feito é necessário um grande domínio da técnica. Porém, meus caros, eu não sou um narrador por excelência...
Não passo de um leitor aplicado que aprecia boas histórias. E não desejo que toda a prodigiosa viagem mental de M. se transforme num apanhado de incompreensíveis reminiscências que fariam bocejar o mais atento dos leitores. Farei o meu melhor, então, para colocar aqui as coisas de maneira compreensível. Serei capaz, no entanto, de aventurar-me numa narrativa in media res ou in ultima res? Conseguirei tramar os fios dessa história com a mesma leveza que as boas tecedeiras misturam suas linhas de várias cores formando ao fim de milhares de lançadas os seus desenhos e paisagens?
Preciso avançar nesse apanhado de páginas e de memórias emprestadas, mas agora volto ao princípio da coisa, espero que compreendam, e até mesmo me perdoem... Começarei de antes da janela, pois é verdade que, quando viu June sentada no parapeito, o nosso jovem já estava totalmente enredado no extravagante destino desse amor.
Era época do Natal.
Tudo principiou com um telefonema dos avós de M. Eles não viajariam mais até a cidade da filha para as festas. Ilma, a avó, tivera um súbito mal-estar, uma forte alteração da pressão arterial, e, embora essa senhora fosse claramente hipocondríaca, o próprio médico a havia dissuadido de empreender qualquer deslocamento mais largo naqueles dias.
Elisa sentira-se péssima com a ausência dos pais; andava muito fragilizada, emocionalmente exausta, e queria um ombro amigo — e adulto — no qual derramar as suas frustrações.
Enfim, parece que aquele telefonema não terminou muito bem... Houve choros de ambos os lados da linha telefônica. Choros femininos alterados, magoados por anos de desentendimentos, atiçados por altas doses de progesterona.
Depois desse telefonema vieram outros.
Telefonemas acompanhados de prantos e fungadas, nos quais Elisa despejava suas angústias existenciais enquanto, em seu quarto, M. aumentava o volume do som, rezando para que a voz do Kurt Cobain abafasse as lamúrias da sua exaurida progenitora.
Naquele tempo, mais do que em qualquer época da sua vida, M. sentia-se absolutamente desnorteado. Os livros já não lhe bastavam. Sentia-se um velho num corpo jovem e, à noite, não conseguia conciliar o sono, os hormônios, a angústia. Ansiava por solidão, por alguma coisa nova e fresca, ansiava por orvalho e liberdade e, talvez, até mesmo por um sonho.
Era por June que ele ansiava sem sabê-lo, e todos aqueles gritos na sala, todas as imprecações, as chantagens emocionais e as declarações de amor filial estavam apenas construindo o caminho que o levaria até a pequena sereia de olhos álgidos — um caminho de pedregulhos, heras e espinhos rumo ao mar.
Por fim, depois de muitos impulsos telefônicos, decidiu-se que o assunto natalino estava cabalmente encerrado. A alternativa deu-se na decisão de M. ir até os avós para passar na praia os meses de janeiro e fevereiro, embora Elisa nenhuma vez tivesse chamado o filho para que ele participasse das tratativas a respeito da sua viagem.
O jovem, a princípio, enfureceu-se com a ordem que, desde instâncias superiores, baixava sobre sua cabeça. Afinal, se quisesse passar as férias escolares na cidade, trancado em seu quarto devorando os contos de Tennessee Williams, quem tinha realmente alguma coisa a ver com isso?
Os avós eram amáveis, M. apreciava o mar, mas estava numa idade em que a independência de ideias parecia-lhe fundamental. Assim, num primeiro momento, opôs-se à ida. Indispôs-se durante alguns dias com Elisa, pois sabia ser brioso como Alzamora. Mas uma voz dentro dele o convidava a analisar mais pacientemente as perspectivas da sua ausência. Os longos passeios à beira-mar, o terraço para o pôr do sol, o exílio dos sofrimentos maternos, pessoas novas, novas possibilidades.
Parece que M. por fim se convenceu de que a gratuidade da viagem podia trazer-lhe benefícios. Fazia anos que não visitava os avós, mas lembrava-se da cidadezinha litorânea, pequena e graciosa, com sua única rua comercial, e uma infinidade de minúsculas ruazinhas que dela nasciam, como afluentes de um generoso rio, e por onde espalhavam-se agradáveis casas e sobrados cercados de espaçosos jardins meio silvestres. Ao fim da grande rua havia um porto cuja agitação tornara pitoresco o lugar: marinheiros, ambulantes, os gritos e o dialeto portuário, a calçada de pedras lisas, úmidas de maresia, o longo molhe cinzento, as gaivotas, os leões-marinhos que vinham dar ali em busca dos peixes refugados pelos pescadores.
Saindo do porto, a praia se estendia, lisa e silenciosa, com um mar azul, às vezes cinzento. No verão, grupos alegres se juntavam naquelas areias — famílias que deixavam a cidade em busca do sossego e do frescor do litoral, crianças ruidosas, casais aposentados.
Era uma praia pequena, familiar e pouco turística. Os moradores conheciam-se pelo nome, havia uma escola, uma igreja, um hospital. O lugar chamava-se Neptuno. E, para M., guardava uma incrível semelhança com as cidadezinhas litorâneas dos livros de Somerset Maugham, como a pequena e peculiar Blackstable, do seu romance predileto, O destino de um homem.
Assim foi que o jovem M. entrou no ônibus num fim de tarde do comecinho do mês de janeiro.
Fazia calor, e tudo convidava ao ócio. Ele atirou-se na poltrona semileito de número 9, apreciando o ar condicionado ao máximo e reconhecendo, pela primeira vez naquele dia, a beleza quente e dourada, quase evocativa, do entardecer sem nuvens.
A rodoviária parecia mais calma do que o comum, e tudo se movimentava com lentidão, até mesmo os grandes ônibus coloridos, que entravam e saíam dos boxes, arrastando-se sob o crepúsculo rosado.
M. respirou fundo e pousou a cabeça no encosto da poltrona, sentia-se totalmente esmagado pelo poder materno e indissolúvel de Elisa. Pela primeira vez, com o cordão umbilical enrolado no pescoço até quase dificultar-lhe a respiração, o jovem pensou no pai com genuína simpatia. Vivera, desde sempre, entre dois extremos. O desinteresse egoísta de Alzamora e a avidez ansiosa de Elisa. A mãe era-lhe um fardo pesado, e ele queria paz.
Achou graça então porque peleara tanto e a capitulação prometia suas recompensas... Sozinho naquele ônibus, a mãe já seguindo num táxi rumo aos seus três martínis, meu jovem cliente sentia-se subitamente aliviado. A casa dos avós era, sem dúvida, território de controle materno, mas a ausência diária de Elisa e seus suspiros, Elisa e suas dúvidas sobre o futuro, o seu e o dele, já lhe serviam de consolo suficiente.
Desse modo, sem sequer desconfiar das artimanhas do destino, nosso caro jovem encaminhava-se para June...
Enquanto o ônibus manobrava para sair da rodoviária e ganhar a pista, M. não sabia que June sequer existia. Um portão a duzentos metros da casa dos avós. Uns olhos de ametista, aquela pequena e bela descendente da linhagem das sereias de Atlantis.
3
Posso estar sendo um tanto confuso, eu sei.
Ao ler o pouco que já escrevi, fica patente a minha simpatia pelo jovem M... Entendam, no entanto, que ele foi, para mim, a porta aberta para esta história, e o seu fio condutor.
Claro que, olhando a coisa de frente, não veríamos mais do que um rapaz enamorado que perdeu a razão às vistas do ciúme. Aprecio, porém, narrar tudo isso longe dos limites rígidos que a minha profissão me obrigaria a tomar. Não uma morte apenas, com um culpado e a sua vítima. Mas duas pessoas ainda no começo da vida, saudáveis e belas e onipotentes ao seu modo, esmagadas, ambas, pela amplidão das possibilidades, confusas diante da álgebra dos dias — os cálculos, as apostas, as probabilidades de isso dar naquilo, e aquilo dar numa terceira coisa... Ah, essa angústia vespertina de futuro poluindo sempre a gloriosa manhã do presente.
Não posso detestar o jovem M., nem olhá-lo com repulsa. Suas belas mãos seguraram um punhal — isso ele afirma tristemente enquanto mantém os olhos baixos, fixando-os nos desenhos do tapete sob seus pés. Suas belas mãos mutilaram e feriram e mataram, mas ele acabou pagando a sua parte direitinho. Não, não o perdoo; mas não posso culpá-lo assim, com a cara limpa, o peito aberto, a alma lavada.
Não sei se me entendem, meus caros...
Estamos todos neste mesmo barco, entregues às tempestades e à delícia da viagem. Cometemos erros, maiores ou menores. Eu tive um casamento, certa vez. E amei, e era amado. No entanto, houve para mim um verão. E, assim como M., uma outra numa janela.
Bem, não cheguei às adagas, não mesmo. Mas matei alguma coisa, e o que era vidro se quebrou. Vocês sabem, eu já contei aqui que a minha ex-esposa tem grande repulsa por mim. Falamo-nos apenas o necessário, e o único e efetivo contato que mantenho com ela advém dos depósitos mensais que efetuo na sua conta bancária. De resto, seguimos neste cabo de guerra, e o pobre Miguel é a nossa corda.
Miguel, meu filho de 5 anos. Já lhes falei dele também... Eu o puxo para cá, ela o puxa para lá. Espero que ele resista, espero mesmo. Ademais, de minha parte, tento deixar Miguel bastante livre. Algo assim como amá-lo de longe... Pode parecer pouco, eu sei; mas, analisando a relação de Joaquim Alzamora com o seu filho, bem, preciso dizer que também pode parecer muito.
Ou seja, todos erramos nesta vida. Estas páginas mesmo podem ser um erro. Ainda não sei, não me decidi sobre isso.
Mas voltemos a M.
Um belo jovem, eu já disse. Um grande narrador com uma história e tanto nas mãos. Mesmo agora quando tudo já se acabou, trato de não julgá-lo. Aprendi, nesses anos todos de ofício, a colocar-me no lugar alheio, e nisso o rapaz estava certo naquele nosso primeiro encontro: nós, advogados, aprendemos a não julgar.
Se fecho meus olhos, ainda escuto a voz de M. Ela entra em mim como um sopro, como o vento que vem do mar, e as imagens que a voz me descreve vão crescendo, crescendo... Elas ganham contornos e cheiros...
Posso ver os toldos abertos para o verão na pequena praia, aquela outra Blackstable, como se chama mesmo?
Neptuno...
Posso ver o mar, as madressilvas, as rosas nos jardins, posso sentir a calma do lugar e até mesmo a pulsação das coisas, dos olhares.
Era em direção a tudo isso que o ônibus seguia. Aquele bicho fumegante, atravessando a noite cálida de verão, descendo a encosta rumo ao mar. Lá dentro, brigando com seu sanduíche de queijo, estava o nosso jovem.
Da viagem há muito pouco que contar. Creio que M. dormiu durante quase todo o trajeto. Horas mais tarde ele despertou. Depois de esfregar os olhos doloridos de sono, percebeu que o ônibus manobrava para entrar no exíguo espaço destinado ao seu estacionamento. Estava, enfim, na minúscula rodoviária de Neptuno.
O dia acabava de raiar. Lá fora, a pacata cidade espalhava-se, preguiçosamente, até o mar. Não havia ninguém nas ruas quietas, o comércio estava fechado, e as primeiras luzes do dia davam a tudo ares de um mundo recém-inventado. M. sentia fome, mas também um certo regozijo.
Ao olhar pela janelinha, viu a avó parada na plataforma, enrolada num leve casaco azul. Era uma senhora alta e elegante, ainda bonita. M. olhou-a com espanto, pois, por um momento, reconheceu nela a própria figura da mãe dali a vinte anos. Mas, mesmo de longe, podia sentir que Ilma guardava mais doçura — era daquelas mulheres que não odiavam os homens. Não que os apreciasse a todos, mas podia reconhecê-los bons e ruins. Ademais, vivia há quarenta longos anos com o mesmo marido, o avô Heitor — meu caríssimo Sr. Lupec —, e era possível afirmar que ambos ainda se queriam com algum laivo do que outrora fora um grande amor.
Ilma pareceu sinceramente feliz em rever o neto. Seu único neto. Havia nos seus olhos um brilho de contentamento esfumaçado pelo sono. Eram 6 horas, e ela disse, rindo:
— Não houve jeito de tirar o seu avô da cama. Heitor é um dos poucos velhos que conheço que dorme até o meio da manhã.
Trocaram abraços então. Como qualquer jovem da sua idade, M. era desafeito a demonstrações físicas de afeto. Mas a avó tinha certo magnetismo e, segurando-o pelos ombros, exclamou:
— Você está um homem! — Piscando um olho, completou: — Muito parecido com Joaquim.
Os dois seguiram para o carro. Estava tudo muito calmo e silencioso, e os jasmins soltavam seu perfume no ar. M. respondeu à avó que todos o achavam parecido com o pai, e que tal parecença não lhe agradava muito.
Ilma riu e retrucou:
— Quer saber de uma coisa? Que a sua mãe não nos escute, mas Joaquim era muito bonito. Não sei agora, o tempo passa por todos nós e deixa as suas marcas. Mas, quando sua mãe casou com ele, todas as moças aqui de Neptuno morreram de inveja.
Seguiram pela ruazinha deserta e entraram no carro. Um sedã azul-marinho muito masculino. M. jogou as mochilas no banco de trás.
Ilma guiava calmamente, e o carro atravessou a única avenida sonolenta. Passaram pela sorveteria, a agência dos Correios, a confeitaria, o cinema, que exibia um cartaz de uma antiga comédia romântica de Marilyn Monroe. Tudo ainda fechado, as ruas vazias. O tempo parecia andar mais lentamente por ali. Não existiam locadoras de vídeo na cidade? Parecia-lhe estranho que alguém ainda fosse ao cinema ver um filme tão antigo como aquele.
A avó pareceu adivinhar-lhe os pensamentos:
— O cinema está exibindo um festival de filmes antigos. Todos ótimos. E eu e seu avô sempre viemos às quintas.
O carro fez uma curva, e eles saíram da avenida principal. De repente, o sol surgiu por detrás da elevação de um morro. Era uma daquelas manhãzinhas que prometiam beleza.
Seguiram na direção do mar, pois os Lupec viviam muito perto da praia. Um bando de pássaros cruzou o céu em algazarra, sumindo entre um emaranhado de árvores. Mais ao longe havia apenas a mancha azul do dia e o suspirar, lento e compassado, do oceano.
M. aspirou o ar e sentiu, lá no fundo, o toque marinho que lhe lembrava outros verões, muito antigos, quando ainda era um menino e visitava os avós na companhia dos pais.
Ilma estacionou o carro na frente de uma casa bem-cuidada, mais bonita do que ele se lembrava. Mas talvez tivessem se mudado, e a sua memória não era muito confiável. Atrás do jardim cheio de roseiras, um sobrado de estuque amarelo cintilava na calma da manhã de verão.
— Seja bem-vindo — disse Ilma.
— Estou contente por estar aqui — ele respondeu com sinceridade.
Estava mesmo contente, tenho certeza. Ah, pobre coitado... Pego na ratoeira da vida como um desses bichinhos brancos e asquerosos. Mas creio que as coisas sucedem mesmo assim.
Heitor, esse é o nome do avô de M. Heitor Lupec.
Gostaria que vocês imaginassem o velho... Era um homem magro e alto. Por causa da altura, andava um tanto encurvado, mas seu sorriso parecia o de um menino. Tinha sido professor por duas décadas, mas ocupava agora algum importante cargo administrativo numa universidade das redondezas, e era versado na obra de Jorge Luis Borges. Aliás, se posso intrometer-me um tanto, confesso-lhes que Borges foi desde sempre um dos meus autores prediletos.
Mas, enfim, voltemos ao avô Heitor, que guarda a minha simpatia especial e que andava pela casa sempre com um livro debaixo do braço.
Heitor Lupec tinha um aspecto terroso, distraído e afável. Gostava, mais do que tudo, de passar as tardes na varanda ou no escritório com vista para um canto da praia. Como lia muito e apreciava poesia, organizava saraus em sua casa. Nessas noites, recebia jovens professores universitários, alunos do curso de teatro, um ou outro veranista amante das letras e os vizinhos.
Um bom casal de avós, eu presumo. Tinham lá as suas esquisitices, como as temos todos. E a mania mais curiosa era, obviamente, de Ilma: fazer biscoitos temáticos. Ela havia feito recentemente toda uma série sobre o mar, as sereias, a fauna marinha. Andava, naqueles dias, preparando uma pequena série sobre as flores brasileiras. Biscoitos florais, se alguém poderia mesmo imaginá-los... Creio que haveria orquídeas e bromélias e vitórias-régias, algo assim como um desses tecidos para cortinas.
Muita cor e açúcar, eu acho, para um rapaz como M. Ele, porém, era educado o suficiente para engolir aquele maluco papo culinário com um bom sorriso no rosto. Assim, quando entraram na casa, era sobre isso que Ilma discorria enquanto meu jovem cliente deixava sua alma vagar por pensamentos inclassificáveis. Estava tão distraído que sequer deu atenção ao dito de Ilma.
Ela falou mais ou menos assim:
— Pois, meu querido, eu disse a June que não deixasse de vir ao sarau de amanhã, assim ela poderia conhecer você... E eu vou servir meus biscoitos florais.
E foi essa a primeira vez que M. ouviu aquele nome, e absolutamente nada nele lhe pareceu especial... Somos assim, o destino se materializa à nossa frente sem que percebamos sequer a sua monumental sombra.
Estavam os dois ali, parados na sala, as mochilas de M. ainda no chão, e a boa Ilma perguntava se o garoto apreciava saraus quando Heitor Lupec apareceu. Tinha os cabelos ainda úmidos do banho, um sorriso no rosto de traços agradáveis e um livro enfiado no bolso do blazer de linho. Ele disse:
— Creio que nosso neto gosta mesmo é de uns ovos mexidos e de umas boas fatias de pão tostado, Ilma. — E, olhando de maneira divertida para M., acrescentou: — Você deve estar morrendo de fome, não é, meu velho?
A chegada do Sr. Lupec era sempre agradável, fosse onde fosse. M. apreciava o velho, e trocaram um abraço rápido, masculino. Mas nosso jovem estava com fome, e o velho lorde empurrou sua esposa para a cozinha. Que ela voltasse com alguma coisa mais substanciosa do que seus biscoitos em forma de lisiantus, pediu Heitor Lupec com alegria.
Quando ficaram sozinhos na sala, o homem mais velho disse para o mais novo:
— Perdoe a sua avó, meu caro. Faz tempo que não temos jovens nesta casa... — Ele riu, espichando um olho para a cozinha: — E, depois de um bom sanduíche, prove um dos biscoitos dela, antes de elogiar-lhes a beleza. Custam muito trabalho a Ilma, e não sei se ela sofre mais quando envelhecem no vidro ou quando são comidos com sofreguidão.
Os dois riram.
Era uma gente bastante comum, como vocês podem constatar. Ninguém diria, olhando-os naquela sala, a manhã de verão instaurando a sua magia lá fora, que certas coisas poderiam acontecer por ali. Mas a vida é assim mesmo, absolutamente imprevisível, e Deus me castigue se estou inventando coisas.
Acho que preciso descrever um pouco a casa dos Lupec, e não vejo por que não fazê-lo aqui, enquanto o jovem M. come seu sanduíche e coloca o papo em dia com os avós.
Era uma casa bonita, bem-cuidada. Heitor Lupec tinha um bom cargo na universidade local, e Ilma era uma mulher caprichosa e bem informada.
Não era uma casa de velhos, com aquele cheiro característico dos velhos. Ah, não. Era uma casa iluminada, arejada, que cheirava a lavanda. A sala era ampla e fresca, com uma grande janela que dava para a praia em frente, deixando entrever uma nesga de mar azul. Havia poltronas de couro, um jarro com rosas sobre um aparador. Nas paredes, gravuras representando figuras marinhas e míticas. Tritão, uma sereia, corais e peixes. Um pouquinho típico, mas de bom gosto. Enfim, uma dessas salas que você pode encontrar nas revistas de decoração da sala de espera do seu dentista.
Quanto ao resto da casa, havia um jardim com uma pérgola; às vezes, os Lupec comiam ali. Uma cozinha ampla, um escritório repleto de livros. E, no andar superior, os quartos. Com as janelas abertas, o cheiro das rosas e dos jasmins invadia a galeria superior. Nas janelas lá de cima também havia o mar, mais vasto e mais azul. Ah, uma janela para o mar! Creio que foi essa janela, com o rumor característico que lhe entrava pelas venezianas, que embalou o sono do jovem M. Pois nosso Romeu dormiu o resto da manhã na cama de lençóis alvos que os Lupec haviam preparado para ele.
Então, na mesma tarde em que chegou a Neptuno, M. viu June pela primeira vez.
Creio que esse é um dos pontos altos da narrativa: o momento em que o mocinho encontra a sua amada. A flecha penetrando a polpa sangrenta do seu alvo. A sensação quase lisérgica da paixão correndo nas veias. Lembro-me de cada palavra de M., o modo perfeitamente claro com que descreveu esse momento ao mesmo tempo que o contava de forma bastante poética...
Ah, aquele jovem deve ter revivido muitas vezes essa tarde! Reviveu-a com tristeza, com ardor, com saudade; reviveu-a chafurdando nas maiores misérias, evocando as mais altas delícias desta vida. O primeiro olhar, a luz do sol dourando tudo, o surdo clamor do verão, essas coisas... Pode parecer risível agora, mas não subestimem o clima, meus caros.
Era a tarde fundamental da vida de M. E ele seguia pela ruazinha calma e ensolarada arrastando os chinelos de borracha, tão inocente do futuro como uma criança prestes a nascer. Fazia muito calor, e ele recriminava-se por não ter trazido um boné. Mas o rumorejar do mar lá adiante prometia a sua brisa, e ele apressou o passo no rumo da praia.
Andou meia quadra sem ver absolutamente ninguém, a não ser um cachorro que dormia sob uma árvore, refestelado na sombra.
E então viu a casa.
Era uma casa estranha, um tanto desconjuntada. A princípio, chamou-lhe atenção o telhado vermelho, que gritava contra o azul do céu. Era um telhado chamativo, grande demais, um chapéu de palhaço. Abaixo dele, a casa branca esforçava-se por manter-se em pé, perfeitamente respeitável na sua esquisitice, com uma varanda de madeira e floreiras de margaridas sob as janelas vermelhas. Parecia com uma dessas casinhas que as meninas brincam de boneca.
June estava lá, encarapitada na janela vermelha, olhando a pasmaceira da tarde de verão. Ela ainda não era a sereia que mais tarde ousou ser, nem suas escamas prateadas rebrilhavam à luz quente e amarela do sol. Ah, não... Ela era apenas uma menina muito linda, sentada no parapeito da janela da sala dos avós, mal-equilibrada naquele espaço exíguo e um tanto ridículo, com uma perna apoiada no caixilho de madeira e a outra balançando-se preguiçosamente.
M. contou-me que ela usava um vestidinho muito curto, amarelo e rendado, e seus cabelos negros e bastos caíam-lhe pelas costas em um delicado desalinho, como uma espécie de manto.
Bem, vamos à cena: o jovem M. vinha caminhando pela calçada em frente. Quando ele cruzou com a casa, June ergueu seus olhos e mirou-o. Ela lia um livro (mais tarde, fê-lo saber que era o poema de Lorca que ela decorava para o sarau). Aqueles olhos azuis acertaram seu alvo sem nenhuma dificuldade.
Creio que bastou um olhar. June escaneou o rapaz, fitando-o de alto a baixo; e então ela sorriu levemente, com alguma malícia. Com a malícia exata para o momento, eu diria, pois June era muito boa nessas coisas, muito boa mesmo.
Ela sorriu porque capturara M. como se captura um passarinho numa arapuca. E então, satisfeita, abaixou o rosto, outra vez atenta ao seu livro. June sabia laçar seu animal, e depois soltar a corda um pouquinho, apenas o suficiente. Tinha pegado aquele livro havia alguns dias na biblioteca de Heitor Lupec com o seu enlevado consentimento, e queria devolver-lhe a honra à altura. Era, desde sempre, uma menina vaidosa, que gostava de impressionar, mas o vigor de García Lorca agradava-a vivamente.
O nosso jovem, porém, de nada sabia. June tinha sido apenas um comentário vago da avó; e vê-la ali, sentada na janela como uma aparição de outro mundo, bem, aquilo foi demais para M. O fato é que ele não entendia de amor, nem de assombro, nem de milagres (creio que o amor é, desde sempre, o milagre primordial), e sentiu-se adoentado e fraco. Aquele sol sobre a sua fronte, e todo o mundo tão igual a antes; as rosas vermelhas tão vermelhas, os jasmins tão brancos, a areia, o mar, a árvore e a sua sombra nas pedras ao derredor; até mesmo a bela June, que voltara ao seu livrinho no seu trono improvisado, tudo era igual, absolutamente igual a um minuto atrás — apenas ele estava outro.
Seguiu até a praia então.
O mar estava lá, esperando-o. Ia e vinha em ondas fracas e constantes. M. pisou na areia, que estava quente àquela hora, soprava um arremedo de brisa. Ele abriu a boca e deixou seu corpo encher-se do gosto marinho até que sentiu a língua pegajosa. Então correu até o mar, e, em rápida sucessão de passadas, o corpo volteando-se para lá e para cá, mergulhou na água fria.
Fazia muito tempo que não tomava um banho de mar. Quando o pai ainda vivia com eles, iam muito à praia. Alzamora trazia no sangue uma velha paixão pelo mar, e, durante alguns anos, ele e Elisa alugaram uma casinha em algum canto do litoral que ele não mais sabia precisar, um lugarzinho belo e inóspito que ainda cintilava na memória de M. enquanto ele batia braços e pernas com vigor, atravessando alguns metros daquela enorme massa de água. Sozinho, ele e o céu.
Depois de um longo tempo, o jovem saiu do mar. Jogou-se na areia, sentindo o choque do calor que subia do chão contra o seu corpo frio. Sentia-se estranho, como se tomado de um quebranto. Mas isso, caros amigos, sou eu quem diz, de posse do relato que M. me fez e que agora tento tornar inteligível, tateando amargamente entre o que me foi confidenciado e o que me restou dentro da alma — não creio que aquele rapaz tivesse usado uma única vez em toda a sua vida a palavra quebranto.
Disse-me M. (e ainda posso vê-lo sentado à minha frente, os pés apoiados no chão, as mãos soltas ao lado do corpo sobre o assento da poltrona de couro), abandonado ao desamparo das suas próprias memórias, que se sentia “desencaixado, fora de foco, menos material do que antes”, como se o imprevisto encontro com a garota da casa branca — que ele não sabia ser June — houvesse mudado alguma coisa fundamental na sua estrutura interior.
Ficou na areia por um longo tempo. Ah, a indolência do verão... Aquele sol, a brisa marinha. Tudo isso pode fazer milagres, ou operar as maiores catástrofes — já lhes disse que o meu casamento terminou num verão como esse. Mas, enfim, esta é a história de M., e não a minha.
Havia pouquíssima gente na praia àquela hora, e nosso jovem mergulhou num sono profundo. Quando acordou, talvez uma hora mais tarde, percebeu um vulto. Havia alguém sentado ao seu lado.
E então uma voz cálida, alegre, se fez ouvir:
— Você não devia dormir assim, desse jeito. Vai ficar com uma boa queimadura, sabia?
M. sentou-se na areia, confuso. Abriu os olhos, lutando um pouco contra a luz da tarde, e quem ele viu, senão ela?
Sim, era June.
Tinha-se materializado na praia, ao lado dele. Tão linda quanto antes, e aqueles olhos azuis pareciam derramar-se sobre o nosso jovem Romeu, que disse, meio confuso:
— Peguei no sono sem querer...
Uma frase bastante tola, convenhamos. Mas eu não o culpo. Ele estava um pouco desorientado, mas logo viria a descobrir que June sabia aparecer nas horas mais malucas. Ao seu lado, ela sorria docemente, como um desses cãezinhos que andam perdidos pela rua e que tentam seguir o primeiro sujeito simpático que lhes cruza o caminho.
June estendeu sua mão, pequena e bronzeada, como uma castelã que manda baixar a ponte móvel para o seu cavaleiro eleito.
— Eu me chamo June — disse ela, com um sorriso.
Aqui aconteceram as apresentações de praxe. Não é possível ser muito inventivo num momento como esse, então deixo-o ao critério de vocês. Nomes, idades, essas coisas. Não creio que os jovens tivessem qualquer interesse sobre astrologia. Falaram do mar, do sol, dos avós; e então M. ligou os pontos definitivamente.
Depois o silêncio desceu. Um desses leves silêncios de verão. As ondas indo e vindo, uma gaivota cortando o azul, crianças pulando na água.
June tinha plena consciência da sua beleza e sabia usá-la bastante bem. Sentada ao lado de M., estendeu as longas pernas na areia. Eu vi uma fotografia de June, e eram umas pernas e tanto... Deitou-se e se deixou ficar ali, absolutamente tranquila, ao lado daquele jovem quase desconhecido. June gostava de estranhos, gostava mesmo. Tinha grande atração pelo novo, mas cansava-se facilmente, era um pássaro sem pouso.
Sim, nosso jovem estava caidinho. Um peixe com a boca no anzol. Era só puxar um pouquinho e, voilà, o jantar estaria garantido. June, imagino, ria-se por dentro. Era tudo tão fácil! Ah, como podem ser tolos esses rapazes da cidade, pensava ela enquanto M. espiava-lhe as pernas com o canto dos olhos, visivelmente agoniado com toda aquela pele e aqueles músculos suaves, alongados, macios... Meu jovem amigo era um sujeitinho puro, devo dizer. Criado entre os muros da cidade grande, de fato tivera menos oportunidades de conhecer, digamos, de conhecer as leis da vida. Bem menos oportunidades do que June, que corria solta por Neptuno como um desses coelhos silvestres desde que tinha 12 anos.
Mas voltemos ao diálogo daqueles dois...
Era o meio da tarde, e o mar sussurrava a poucos metros. Estirada na areia, June olhou o jovem M. e disse:
— Ora, acho um pouco estranho você estar aqui... Você nunca veio. Eu vivo em Neptuno há sete anos, e você nunca veio. Nem no inverno nem no verão. Eu não me lembro.
Ela olhava-o com uma curiosidade medida e aquele seu sorriso nos lábios.
— Pois agora eu vim — disse M., tentando parecer tranquilo. — Meu pai mora na Europa. Costumava passar os verões com ele; agora, não mais... Também tive uma hepatite que me nocauteou no ano passado. — Deu de ombros: — Um verão inteiro perdido em cima da cama! Mas eu vinha muito aqui quando eu era criança.
Sorrindo, June respondeu:
— Deve ser bom ter um pai que mora na Europa.
— Não o meu — disse M.
Esse era um assunto difícil para ele. Alzamora era uma sombra da qual ele tentava fugir em vão. June olhou-o, visivelmente curiosa. Para ela, que não tinha nenhum pai, nenhum pai conhecido, quero dizer, a possibilidade de um homem mundano como Joaquim Alzamora poderia parecer uma verdadeira delícia.
Então M. continuou, visto que o assunto parecia realmente interessar à bela June:
— Nós nos encontramos muito pouco, meu pai e eu... Se os vizinhos da vovó estranham de me ver aqui em Neptuno, fico pensando o que disseram os vizinhos do meu pai a cada uma das vezes que apareci por lá. Ele se mudava muito, por causa do trabalho, e algumas das suas casas eu nem cheguei a conhecer.
— Ora, isso tanto faz — retrucou June de modo arrevesado.
Ela era sempre assim quando sentia um pouquinho de ciúmes, devo dizer. O desdém absolutamente fingido, aqueles olhinhos apertados, um muxoxo com os lábios.
E então ela prosseguiu no seu pequeno discurso apaixonado:
— Os vizinhos, o pai, a mãe... Todos importam tão pouco! Sabe, eu nunca vi o meu pai. Ele se mandou antes mesmo de saber que a minha mãe estava grávida. Deu no pé rapidinho, como diz a minha avó.
M. olhou-a e sorriu, achando graça. O sol agora tinha baixado um pouco no céu, e ele podia sentir os raios oblíquos incidindo sobre o lado direito de suas costas, que começavam a arder.
— Escute — disse M. —, eu preciso de outro mergulho. Quer vir comigo?
June usava ainda o vestido com o qual ele a vira na janela, mas a alça azul de um biquíni era visível por baixo do decote.
— Ah, obrigada — ela fez uma careta infantil. — Prefiro olhar aqui da areia. Ainda não chegou a minha hora.
M. não entendeu o que ela quis dizer, mas não a questionou. Havia algo em June que o excitava e o incomodava ao mesmo tempo. Ele correu até o mar e mergulhou, sentindo a água gelada envolver-lhe o corpo. Nadava bem, pois Elisa o havia colocado numa escola de natação aos 4 anos de idade, e ele costumava treinar eventualmente no clube perto de casa.
Foi longe, sentindo as braçadas cortarem a massa de água que se abria gentilmente aos seus movimentos compassados. Vocês talvez não conheçam, mas Neptuno tem uma praia mansa e aprazível, de poucas ondas... Já estive lá uma vez, num verão há alguns anos, e também costumava nadar à tarde. Nunca mais tinha voltado a Neptuno desde então; jurei nunca mais voltar, até que June e M. e seu louco e malfadado amor me convenceram do contrário.
Mas lá estava o nosso jovem Romeu...
Nadava bem, e passou a arrebentação facilmente em poucos minutos de esforço. Depois, naquela parte do mar onde a massa de água apenas ondula, ele deixou o corpo relaxar, esvaziando o ar dos pulmões, boiando, os olhos fitos no céu perfeitamente azul, aquele resplendor de verão, tão perfeito que chegava a doer.
Quando M. saiu do mar algum tempo mais tarde, June não estava mais na areia. Tinha ido embora sem dizer adeus, tão inesperadamente como aparecera. Ah, a bela menina travessa! Mas o brilho dos seus olhos, o fogo da sua pele, tudo isso tinha ficado em M. como uma espécie de marca. Ou como um aviso.
Sozinho, ele recolheu seus poucos pertences e abandonou a praia. Algumas crianças brincavam por ali naquela algazarra típica. Um cão ladrou nas dunas, gaivotas passaram lá em cima no céu azul. M. cruzou pelas crianças sem interesse e seguiu em passos lentos rumo ao caminho que levava à saída. Jurava para si mesmo que, na volta, sequer ergueria os olhos para a casa esquisita onde June vivia.
Mas, duas quadras adiante, ele quebrou a promessa. Nós, homens, somos especialistas em quebrar promessas, grandes ou pequenas, isso é um fato. Assim, na frente da ridícula casa com seu desproporcional telhado vermelho, M. ergueu os olhos. Eu diria que estava até mesmo afoito, que seu coração acelerava-se um pouco. Ele vasculhou a fachada e espiou cada janela; encontrou as persianas pacificamente cerradas, como as pálpebras de uma inocente criança que dorme.
4
Pensando em M. e na sua história, ocorre-me uma frase de Jorge Luis Borges. Talvez uma conversa que tive com Heitor Lupec tenha sido um pouco responsável por isso, pois o fato é que Borges tem me voltado à mente com bastante frequência nesses últimos dias.
Creio que lhes contei que o velho Lupec era versado na obra do grande argentino e que oficiava numa cadeira sobre literatura platina ou coisa que o valha. Mas algo na poética de Borges se une com a pequena mitologia desta história. A tragédia, um belo jovem, uma sereia. Ah, uma adaga também... Mas isso, isso já é meio caminho para o nosso desfecho.
Só é nosso o que morreu, só é nosso o que perdemos. Borges escreveu isso em algum dos seus livros, não recordo agora exatamente qual. Uma regra da vida, eu diria. Uma regra tantas vezes exposta pela ficção, esse arremedo de vida, esse dissecar da aventura humana. Vi essa sensação luzir nos olhos de M. quando me contava do seu desventurado amor. Como Bibiana Terra à sepultura do seu Capitão Rodrigo, dizendo que “ele finalmente tinha voltado para ela”, meu jovem amigo parece pensar do mesmo modo.
“A minha June”, repetiu-me ele tantas vezes... E, no entanto, aos meus olhos, aos olhos de todos, aos olhos do juiz para o qual fora distribuído o caso, a pequena June já não é mais. E o que não existe não pode ser possuído por ninguém.
— Você não sabe — retorquiu M. na primeira vez que veio aqui, quando lhe expus essa minha impressão. — Você não sabe nada disso. June é minha e será minha para sempre. Mais agora do que antes.
Devo dizer que o escutei com certa repugnância naquele dia; só mais tarde é que fui me envolvendo com ele e com a sua história. Como a Sherazade, que aos poucos enreda o sultão Shariman, assim M. fez comigo também... Acabei por descobrir que era um bom narrador, um dos melhores que já vi.
Mas, naquele primeiro encontro, eu estava bastante contrariado. A noite ia alta lá fora, e em algum lugar da cidade meu amigo divertia-se com duas jovens atrizes; em outro lugar ainda, no quarto andar de um prédio de esquina, Anna, minha ex-mulher, explicava, provavelmente quase com alegria, ao nosso pequeno rebento que o seu pai não viria buscá-lo no dia seguinte.
Imaginei meu Miguel, com o seu pijama de cachorros azuis, deitado na cama sob as cobertas, o olhar doce, um pouco decepcionado, escutando falar a mãe que estava sempre ao seu lado.
Essa imagem me deprimiu, e eu disse a M.:
— Veja, rapaz. Todo mundo se apaixona. Não uma, mas várias vezes na vida. E isso não justifica o que você fez. Faça com que eu o compreenda; é o mínimo que precisamos a partir daqui.
M. olhou-me no fundo dos olhos. Por um instante, pareceu uma criança a quem os adultos deixavam sozinho, trancado num quarto escuro. Uma solidão danada.
Vi o riscar de uma tempestade dentro das suas retinas, era o medo; depois ele piscou uma, duas vezes, e seu semblante voltou a recuperar a incrível calma e a beleza delicada que me tinham impressionado quando eu lhe abri a porta da minha casa algum tempo antes.
— Tenho uma história para contar, senhor Key. Não vim aqui pedir que me entenda ou que me perdoe... Não posso fazer nada, as coisas aconteceram assim... — Ele suspirou, dizendo: — Vou contar absolutamente tudo.
Eu aquiesci.
— Absolutamente tudo. Depois veremos o que deve ser feito.
O rapaz olhou a rua por um instante, como se cogitasse abandonar-me ali e sair para a noite. Do outro lado do parque, apenas como uma promessa, havia o rio e suas águas cinzentas. Talvez M. pensasse naquelas funduras e no seu silêncio compreensivo, talvez pensasse nisso como uma opção.
Então ele pareceu decidir-se subitamente. Recostou-se na cadeira, e seu rosto se contraiu. Sim, ele precisava desvelar os véus. Deve ter doído um pouco no começo reviver tudo aquilo — do céu ao inferno, vertiginosamente.
Ele disse, numa voz firme e envolvente:
— As coisas aconteceram assim...
Naquela primeira noite, algumas coisas influenciaram-no. Coisas pequenas, desimportantes, mas que foram inflando o espírito de M., indícios externos da angústia que o assolava por dentro.
Em primeiro lugar, havia aquela lua enorme no céu. Uma lua rubra e redonda como uma moeda, escarrapachada entre as estrelas. Vinha dos lados do mar uma brisa fraca, cheirando a jasmins do jardim de Ilma. Esse perfume de verão chegava ao quarto onde o nosso jovem se debatia, chegava misturado ao cheiro da sopa que fervia na cozinha lá embaixo.
Pois, meus caros, M. debatia-se naquele quarto como um desses insetos que recebem na cara um bom flit de Baygon. Ele já estava meio doente de June, e talvez com um pouco de insolação também...
Queimado por dentro e por fora, debruçava-se à janela, pensando no melhor jeito de cair fora dali. A casa dos avós oprimia-o, e ele queria a noite aberta, queria o mar, e a areia, e o vento no rosto; queria, mais do que tudo, que essas coisas estivessem acompanhadas de June. Ele não desejava um prato de sopa e conversas amenas sobre reminiscências familiares, por Deus! Era um jovem com seus hormônios todos, e era verão.
Tudo, tudo o chamava. A juventude pode ser muito premente em certas ocasiões, e mais ainda quando o assunto é amor.
Havia poucas horas ele estivera na biblioteca com Heitor Lupec. Enquanto, lá fora, o crepúsculo descia sobre Neptuno, vermelho como um morango, avô e neto tinham falado de livros. O Sr. Lupec é o que se pode chamar de um homem muito letrado, muito culto e bastante interessado em compartilhar seus conhecimentos, como deve sê-lo todo bom professor.
M. disse-me que espiou a prateleira dos seus livros prediletos e tomou emprestado do avô um volume. Heitor aproximara-se, espiando a lombada do livro escolhido com curiosidade.
— O fio da navalha — comentara o Sr. Lupec. — Somerset Maugham é um autor quase completamente esquecido. Tem qualidades admiráveis a meu ver, mas hoje é considerado um autor menor.
— Eu gosto muito — dissera o jovem. — Mas não entendo nada disso. De literatura, quero dizer.
O velho achou graça.
— Gostar é o bastante, meu caro. Creio que os autores escrevem para ser admirados pelos seus leitores. A crítica, enfim, é muito volúvel. Mas Maugham não se poderia queixar, em todo o caso... Ficou realmente rico com a literatura. Era muito admirado.
M. enfiou o livro debaixo do braço. Então tomou coragem para abordar o verdadeiro assunto que o trouxera até ali: June.
Creio que disse, simplesmente:
— Hoje, na praia, conheci June.
Heitor Lupec deixou então as suas prateleiras de lado e, sorrindo discretamente, mirou o neto. Ele era um rapagão bonito e bem-apessoado, isso eu já lhes disse muitas vezes... Creio que essas qualidades não passaram despercebidas ao Sr. Lupec, que, somando o neto à figura de June, antecipou de leve o que estava por vir.
Mas o bom homem era suficientemente espirituoso e, olhando o livro com certa pena, imaginando que talvez Maugham sequer fosse lido dessa vez (quem poderia culpar um jovem apaixonado!), disse apenas:
— É típico de June. — Ele riu, pensando na menina. — Ela está por todos os lados realmente.
Não creio que M. tenha entendido o comentário do avô, e, na altura em que ele próprio me contou isso, nem eu mesmo o compreendi. Mas parece que a bela June fazia das suas em Neptuno e não era muito discreta. Conversas corriam, aqui e ali; e o Sr. Lupec não era dessa cepa de intelectuais alheios à vida cotidiana; não, ele andava e ouvia, ouvia bastante.
Se o neto mirou-o com alguma estranheza, o velho Lupec não percebeu. Com calma, sentou-se à sua escrivaninha e pegou uma lata esmaltada, que abriu com presteza, enchendo com o seu conteúdo um cachimbo de marfim.
— Fumo sempre aqui. Ilma detesta o cheiro — disse Heitor. — E Ilma, como June, está em toda parte também.
M. riu dessa vez.
Heitor Lupec tirou algumas baforadas do cachimbo. Como o jovem ainda permanecia ali, correndo os dedos pelos livros dispostos nas estantes mas com a mente bem longe, o velho achou por bem perguntar:
— Você, meu caro, o que achou dela? De June, quero dizer.
M. respondeu que a achara um pouco estranha. Não disse ao avô que tal estranheza tinha-lhe ferido a alma, que desde a tarde só fazia pensar em June e que ardia por ela como quem arde por alguma febre tropical. Mas Heitor Lupec é um homem muito perspicaz, muito mesmo. E certos sintomas, bem... O tempo passa, mas é impossível esquecê-los. E quem, afinal de contas, nunca se apaixonou aos 19 anos?
— June é como um bichinho — disse o velho, sorrindo. — Arisca e incontrolável. Mas muito, muito bonita.
E o jovem M. repetiu, subitamente apaziguado:
— Muito, muito bonita.
Bem, era nessa beleza que ele pensava à janela, naquela noite de verão, com o velho Maugham largado sobre a cama. Creio que M. não chegara a ler sequer a primeira página do romance; ele não estava nem um pouco interessado na angústia existencial do pobre Larry Darnell.
Assim, meus caros, lá estava M. Sua cabeça fervilhava e ele decidiu não ficar mais nem um minuto trancado em casa.
Desceu para a sala e encontrou Ilma à mesa da sala. Tinha disposto uma toalha branca, e sobre ela trabalhava nos seus biscoitos esquisitos.
— Ah, o nosso jovem — disse Ilma ao vê-lo. — Suponho que você esteja faminto.
M. aproximou-se meio sem jeito. Seu estado físico passava bastante longe da fome, mas ele sorriu para a avó, dizendo apenas:
— Seria muito feio se eu os deixasse sozinhos à mesa hoje?
Ilma olhou-o de soslaio enquanto pingava anilina num pote cheio até a borda com uma pasta branca e pegajosa. Ela realmente tinha grande afeição pela sua tarefa de confeiteira.
— Já tem compromisso? Sei que os jovens são rápidos, mas você mal chegou.
— Pensei em caminhar por aí, só isso... Se a senhora não se incomoda, eu mesmo faço um sanduíche na volta.
Um rápido silêncio se instalou entre eles, e M. pôde ouvir o ruído macio da colher mexendo a mistura que se ia tornando colorida como num passe de mágica.
A avó Ilma era uma mulherzinha bastante distraída. Talvez porque estava ocupada com seus biscoitos, talvez porque já não lesse mais romances havia muitos anos, não notara nos olhos do neto aquele brilho que, mais tarde, seria objeto dos comentários de Heitor Lupec.
Ela apenas disse:
— Ah, que belo tom de verde!
Falava do seu glacê, satisfeita como um joalheiro que lapida a sua gema. E então, olhando para o rapaz, ela comentou, muito docemente:
— Faça como achar melhor, meu querido. Eu explico para o seu avô.
E assim M. ganhou a noite, desaparecendo pela rua silenciosa, onde o sereno baixava, invisível, sobre as pedras azuis do calçamento. E aquele azul sob a sola dos seus tênis de lona, aquele azul era tão raro como o estado de espírito do nosso jovem...
E, se eu ainda não lhes contei, perdoem-me; mas, em Neptuno, as ruas são calçadas com arredondadas pedras azuis, e não me perguntem se isso significa algo. Certas coisas, meus caros, não vão além da beleza oca e volátil de um momento, de uma ideia. Mas eu gostava... Ah, eu gostava muito de caminhar sobre aquelas pedras nas suaves noites estreladas de janeiro.
Bem, posso imaginar M. atravessando a rua quieta, no rumo da praia, livre como um menino que gazeteia aula e tem a tarde inteira pela frente. Alguns jovens passaram por ele, riram de alguma coisa engraçada, depois dobraram numa rua em direção ao centro da cidadezinha, esnobando o mar, esnobando-o também.
Mas ele não se importou, seguiu adiante com pressa. Uma criança chorou na praça ao longe, uma jovem voz feminina subiu no ar, dizendo palavras de consolo. Passou pela casa de June, mas encontrou-a escura e quieta. A casa, com o seu teto desconjuntado, parecia esperar o retorno da sua dona. June não estava lá, definitivamente não havia ninguém, e M. sentiu uma pontada de tristeza, um vazio como o da própria casa cujo vulto já deixara para trás, seguindo no rumo dos juncais que levavam à praia.
Pisou na areia fria, e seu coração desanuviou-se, de repente, milagrosamente. Certos lugares são como medicinas, disse-me Alzamora certa vez. Não sei se acredito nisso, creio que levamos nossas pequenas mazelas conosco. Mas o fato é que a praia acalmou a angústia que corroía o espírito de M. Pelos seus membros, o sangue passou a correr mais leve, fluido e vivo.
Ele avançou alguns passos, afastando-se da luz amarelada do poste elétrico que ficava à entrada do acesso para a praia. Conforme seguia em direção ao mar, tudo ia adquirindo a sua verdadeira cor, a verdadeira luz. A espuma branca na areia, o silêncio que resvalava ao seu redor, cedendo espaço ao murmúrio marinho, como se a areia, aquela extensa faixa translúcida que se desdobrava até o molhe, fosse a respeitosa plateia de um concerto de águas. Não havia vozes ali, apenas as ondas, que iam e vinham num ritmo preciso.
M. levantou os olhos e viu as estrelas esparramadas no céu. Nada se movia acima de sua cabeça, só havia o brilho purpurinado sobre o veludo negro da noite. Ah, que noite! Ele começou a andar pela praia... A princípio, imaginou-se sozinho, tudo ali apenas para ele, mas depois de alguns metros viu um vulto dentro da água e reconheceu o luzir instável de uma rede que subiu e desceu no ar.
Perto da arrebentação, um pescador jogava a sua tarrafa. Ela se alçava na noite, depois tornava a cair, numa elegância perfeita, como uma bailarina que reverencia o seu público. Na areia, o pescador havia enterrado quase até a borda um grande balde, um desses baldes ordinários de lata.
Ele aproximou-se e viu, na água mortiça do balde, os vultos cinzentos de quatro peixes, quietos no seu cativeiro. Sentiu pena deles, virou o rosto. Depois, olhou-os ainda uma vez, remexendo-se à espera da faca, e afastou-se. Caminhava molhando os pés na água; ao contrário da areia, o mar guardava a mornez do dia ainda no seu toque.
M. seguiu em direção às dunas, que cresciam num canto da praia, escalou uma delas e deitou-se. O abraço frio da areia era revigorante, e ele mirou o céu. O mundo agora se invertia: no alto, as estrelas luziam nas suas constelações, a lua parecia flutuar, branca e fina como uma casca de ovo.
Lembrou-se de que o pai costumava apreciar as estrelas e de que tivera uma luneta em casa. Quando ainda era um menino, Alzamora muitas vezes contara-lhe sobre as constelações. Porque tinha uma alma mezzo europeia, o pai preferia as estrelas neutrais, mas guardava certo apreço pela pequena Crux Australis, como ele mesmo gostava de dizer.
Ele mirou o céu e achou facilmente o Cruzeiro do Sul. Agora, ali naquela praia silenciosa, deitado sob a prata daquela noite, enquanto o pescador lançava outra vez a sua tarrafa ao mar, podia reconhecer sem muita dificuldade a brilhante Alfa Crucis na ponta austral da constelação e, depois, segundo as palavras do pai (“Busca-a no madeiro leste da cruz, meu filho...”), encontrou também a Beta Crucis e, por fim, a Rubídea, a estrela avermelhada que fica bem lá no alto do arranjo todo.
Então alguma coisa chamou-lhe a atenção no mar, e M. tirou os olhos do Cruzeiro. Não era o pescador, que agora recolhia a sua rede no mesmo silêncio de antes e apressava-se em deixar a água. Um outro vulto surgia entre as ondas, e depois de alguns segundos ele reconheceu June. Saindo da água àquela hora, como uma ninfa ou coisa que o valha. Bem, devo dizer, meus caros, que era uma aparição e tanto; June, completamente ensopada, com o vestido leve grudando-lhe no corpo, caminhava em direção ao rapaz.
Era afeita aos banhos noturnos, uma das suas maiores esquisitices. Talvez porque achasse romântico, mas o fato é que vários homens de Neptuno tinham já acalentado alguns devaneios não muito decorosos a esse respeito, os banhos da pequena June...
Mas o jovem M. de nada sabia. Encontrá-la ali, àquela hora, pareceu-lhe bastante improvável. Ele foi pego de surpresa.
Ao vê-la aproximar-se, M. sentiu um incômodo, como se um punhal invisível tivesse sido cravado no fundo do seu peito. Sob o impacto desse susto, sorriu para June.
— É uma boa noite para um mergulho — disse, com um sorriso.
June sentou-se ao seu lado, e ele pode ver seus dentes, brancos e perfeitos, cintilarem sob a luz láctea.
— Parece que vamos nos encontrar por aqui — brincou June. — Gosto da praia à noite. Quando meus avós saem, sempre fujo pra cá...
— Para um banho noturno?
Ela riu.
— São os melhores! A água é morna, e os peixes passam sob os nossos pés quando a gente mergulha.
June era uma pequena joia, e perdoem-me o trocadilho. Sentada ali, ao lado do meu jovem amigo, sob a suave luz da lua, bem, os sentimentos de M. potencializaram-se ao máximo. Ela era muito apetecível, como uma fruta madura. Mas havia um jogo de palavras, toda uma dança a ser dançada. Ah, os rituais, quem se livra deles nesta vida? M. era inexperiente nas jogadas, mas sabia que devia jogar.
Então começou:
— Sinto dizer que os peixes passavam dos seus pés para a rede daquele pescador. Ele tinha um balde cheio deles.
— Ah, aquele é o velho Bertuíno — disse June. — Ele sempre joga a tarrafa quando estou no mar... Costuma dizer que eu atraio os peixes.
— Imagino que sim — retrucou o jovem.
Bingo. June achou graça, era bastante coquete, e respondeu:
— Ah, não pense coisas... Eu moro aqui desde criança. E o velho Bertuíno é um bom sujeito. Às vezes, eu o visito, e comemos tainha assada, ou corvina, quando ele pesca alguma. — Ela deu de ombros. — Minha avó cozinha muito mal.
M. procurou o velho pescador, mas ele já ia longe, o vulto sendo engolido pela noite. June estava com vontade de falar, parecia muito receptiva.
— Agora o Bertuíno vai para casa limpar os peixes — disse, sorrindo. — Pensei que você tivesse muitos amigos, e que estaria agora numa dessas festas por aí. Acontecem muitas festas no verão.
— Ah, sou um tipo meio solitário... Além do mais, se eu quisesse ir pra uma festa, não teria saído da cidade. Eu vim aqui ver as estrelas. Onde moro, os letreiros é que brilham à noite. Coca-Cola, McDonald’s, delivery disso e daquilo, você sabe. Cada cantinho de céu ocupado por um néon.
— E o que prefere? — June quis saber. — Os deliveries de lá ou as constelações daqui, o velho Bertuíno, o mar...
Mesmo agora, quando nada mais disso importa, enquanto escrevo essas linhas, ainda posso sentir a angústia do jovem M. Ele sentia-se estranhamente embaraçado diante daquela menina bonita e fácil, pois June era fácil como uma flor. Mas isso não o deixava mais aliviado, ao contrário.
Ele olhou-a e respondeu com a máxima sinceridade que lhe foi possível:
— A Rubídea tem muito mais encanto do que um hambúrguer triplo... E você... Bem, June, não conheço outra como você lá na cidade.
June deve ter gostado disso. Ela trabalhava bastante pelos seus elogios, e apreciava-os. Então ela riu e disse com um pouquinho de afetação:
— Ah, você está sendo... Como é que diz a minha avó mesmo? Você está sendo galante. — June fez uma careta. — Agora, sobre a Rubídea... Bem, você tem razão. Nada se compara à pequena estrela de sangue.
Ela sabia de estrelas, sabia de muitas coisas. Ah, minha pequena e curiosa June! Ela estava sendo irresistível para o meu jovem amigo, completamente irresistível, molhada de mar, alegre, aquelas pernas, os belos olhos azuis e, ainda por cima, as estrelas!
Então M. pensou que Alzamora, seu pai, haveria de achá-la interessante, aquela jovenzinha silvestre, pura e esfuziante de vida. Recriminou-se por pensar no velho ali, naquele momento, naquela noite, no auge da sua própria vida. Mas certas coisas, todos sabemos, certas coisas nos constituem, e, mesmo achando-se tolo, ele viu-se acrescentando:
— Meu pai é um apreciador das estrelas. Conhece todas as constelações. Há muito tempo, quando eu era um menininho, ele costumava me trazer até a praia à noite... Ainda me lembro, a gente se deitava na areia e via o céu.
— E o que o seu pai faz? — June quis saber.
— É arquiteto.
Ela achou engraçado.
— Pois duvido que seu pai arquiteto saiba mais sobre as estrelas do que o pescador Bertuíno. Noutra noite, vou lhe apresentar o velho. Marés e estrelas, ninguém sabe disso como ele. — Então, subitamente, ela pôs-se de pé e disse: — E agora vamos, estou morta de fome!
Ah, ela mandava e desmandava nele desde o mais incipiente começo da coisa... E, embora M. também sentisse fome, pois já passava das onze e ele não jantara, a ideia de comerem pareceu-lhe uma imposição de June.
De qualquer modo, os dois seguiram juntos. E, devo dizer, o nosso jovem acompanhou a garota com verdadeira felicidade. Ah, aquele rubor nas faces, os suspiros interiores, aquela leveza! Entendo que a paixão nos fragiliza, que é uma espécie de doença: todas aquelas substâncias químicas jogadas no corpo assim, de repente, oxitocina, adrenalina, endorfina. A paixão tem a sua química, e o pobre M. chafurdava em hormônios.
Por outro lado, June estava plenamente consciente de si mesma. Ela pensava bem. June era como uma criança mimada que aponta o dedo para a vitrine e ganha o brinquedo escolhido. Parecia satisfeita, mas nem de longe feliz; tudo em June era intrincado, cada sentimento escondido sob outro e assim sucessivamente. Era um desses espíritos agoniados, de uma confusa complexidade, que passam a vida em busca de alguma coisa difusa e potencialmente inalcançável.
Mas, voltemos à ação.
Lá se foram os dois, deixando para trás o mar e a areia. A pequena cidade de Neptuno rebrilhava na noite, e a luz amarelada dos postes elétricos, brigando com a maresia, condensava-se. Uma fraca névoa erguia-se do mar, como um véu que apagasse os contornos mais vívidos das coisas. E os dois atravessavam o ar espesso, cruzando com algumas pessoas, dizendo coisas sem qualquer importância.
M. lembrava-se pouco desse passeio. Disse-me que comeram em algum lugar, que ele pagou a conta e se deixou levar. Cruzaram por um roseiral, e o ar pesava com o perfume das flores. Então, quando saíram desse jardim, passando por um vasto espaço baldio, do meio de alguns arbustos de repente surgiu um cão furioso. Era um bicho grande, e tinha uma pelagem tão escura que se confundia com a noite.
O cão ganiu e ganiu, avançando com fúria. Os dois jovens puseram-se a correr num misto de excitação e de medo, as mãos dadas, o coração batendo forte dentro do peito, os olhos vivos, cristalinos. Não trocaram sequer uma palavra, moviam-se em perfeita sincronia, intuitivamente.
Seguiram por uma rua inteira, uma ruazinha deserta, escura e malcheirosa, uma dessas ruazinhas que os turistas não se dignam a visitar, e o cachorro, ávido, furioso, corria ainda atrás deles, rosnando.
June segurou com força a mão de M. Ela ria e chorava, dizendo:
— Por aqui, por aqui.
Suas pernas longas trabalhavam rápido, uma jovem gazela assustada, os cabelos soltos. Nosso amigo seguiu-a, e era veloz também, o corpo de 19 anos em perfeitíssima ordem, o coração bombeando o sangue, os músculos rijos fazendo o seu trabalho.
Correram e correram. Chegaram, por fim, a uma praça deserta e tristonha, e então, rindo, ofegantes, perceberam que o maldito animal finalmente desistira, tendo ficado para trás em alguma esquina escura.
June jogou-se num velho banco de madeira. Seu belo rosto, corado pelo esforço, parecia uma maçã madura. Ela tentava, em vão, controlar a respiração acelerada.
Por fim, June disse:
— Achei que ele nos pegaria! Se eu levo uma mordida na perna, a minha vovó me mata.
Estava muito bonita nessa hora, muito bonita mesmo, com os cabelos revoltos, e todo aquele sangue tingindo-lhe a pele bronzeada, um laivo de medo ainda dentro dos olhos desbotando-lhes o azul.
M. não pôde resistir, e abraçou-a num impulso. Aquele conhecido músculo romântico batia em descompasso dentro do peito do meu jovem amigo. Batia de esforço e de desejo. Ele não pensou em nada, sua mente estava branca e oca, quando — o sangue latejando ainda nas têmporas — segurou June com força e, ofegante, selou seus lábios aos dela, sentindo os dois calores que se fundiam num só, os dois peitos arfantes, as duas línguas, um único clamor.
Estava enredado o nosso jovem Romeu... A flecha tinha acertado seu sangrento objetivo, e creio que nada mais poderia ser feito a partir de então. Bastava rolar a ladeira, e ele estava fadado a fazer isso sozinho.
Vejam bem, meu caro amigo não foi o primeiro. Outros, jovens ou velhos, já caíram em armadilhas semelhantes. Na vida real, incontáveis criaturas se perderam por amor; na ficção, o amor trágico foi amplamente contado. Ah, os píncaros e os calabouços da paixão, todos os escritores têm um fraco por eles... Chamo o jovem M. de Romeu, mas poderia nomeá-lo Abelardo, ou Orfeu, ou Dirceu, ou Tristão. Poderia chamá-lo Bolívar Cambará, ou Charles Bovary ou Philip Carey. Enfim, como ele, muitos já foram tomados por um desses ardores que matam de sede, que secam a gente por dentro, quentes como a estiagem de verão, furiosos como uma tormenta; esses ardores de vertigem e de assombro sempre, sempre reveladores. E, porventura, fatais.
5
Dois meses depois da surpreendente visita do filho de Joaquim Alzamora ao meu escritório, resolvi ir até Neptuno e ver as coisas por lá com meus próprios olhos.
Para ser preciso, M. não me fez uma única visita apenas, mas esteve comigo três vezes, três longos serões narrativos nos quais, sob o comando da sua voz firme, fantasiosa e eficiente, meu espírito deixou o espaço que me continha e seguiu para longe, avançando através das avenidas com seus outdoors, seguindo pela autoestrada, descendo a serra para os lados do mar, entre as aleias floridas, os toldos coloridos, as madressilvas e o cheiro alucinante dos jasmins de verão.
De fato, M. foi um grande narrador...
Arrastou-me para os jardins onde seu amor cresceu até o ponto da doença, levou-me através das ondas do mar, dos recantos, ruas e fronteiras que ele e June ousaram atravessar. Mas, vejam bem, meu jovem cliente não era o personagem principal dessa história — não, isso ficava para June... E até mesmo eu, sentado na minha confortável poltrona de couro, o telefone desligado e o café esfriando na xícara, até mesmo eu fui levado por ela, pela sombra da beleza e da juventude que M. conseguiu levantar diante dos meus olhos. Sem sequer sabê-lo, M. “ensinava-me a ouvir as sereias cantarem”. E elas cantavam, ah, como cantavam.
Por Deus!, foi esse canto que me fez seguir até Neptuno. Muita coisa já havia acontecido então, mas não tudo. Confesso-lhes que não foi uma decisão fácil ir até lá.
Eu já disse aqui que tive um verão, um verão como um espinho encravado sob a minha pele. Bem, quando o jovem M. me procurou, pareceu-me quase uma pilhéria que ele tivesse voltado exatamente de Neptuno. Eu também dei um grande passo em falso nesta vida — não, meus caros, antes que vocês pensem coisas, preciso dizer-lhes cabalmente que meu pequeno e atroz erro nada teve a ver com adagas e assassinatos... Mas a cicatriz vai existir para sempre, e ainda dói. Pois botei minhas mãos no que não devia, botei minhas mãos no que cintilava para outros olhos que não os meus, e fiz isso numa tarde quieta, de verão ardente, numa casinha entre as dunas de Neptuno, aquele lugarzinho de prazeres...
Mas voltemos ao jovem M. e às suas urgências. Sinceramente, não pretendo transformar esta narrativa num mea-culpa! Às vezes, enquanto escrevo, quase posso sentir o peso do olhar de Anna, minha ex-mulher... Aquele olhar cheio de ressentimento e de mágoa no qual eu me afoguei por muito tempo. Mas não, não cederei aos impulsos do remorso ou da autocomiseração. Voltei à margem outra vez, e agora respiro o ar puro. Assim, esquecerei Anna, aquela tarde, o meu passado. Ao menos por hora, deixem-me seguir ao sabor do canto da sereia. Afinal, esta é a história de M. e de June, e das suas próprias tragédias.
Comprei minha passagem para Neptuno depois de passar uma longa tarde com Miguel. Creio já ter dito antes aqui que Miguel é um menino bonito, alegre e curioso, de 5 anos de idade.
Pois bem, vivemos separados desde que ele tinha 11 meses, quando uma criatura loura, dourada e sediciosa cruzou o meu caminho, partindo-o em dois. Um pequeno cataclismo, uma falha sísmica que se abriu, apartando meu passado e meu futuro para sempre. Ah, que grande terremoto aquele! Miguel não se lembra, portanto, das noites em que teve cólicas e eu o acalentei, das brincadeiras no chão da sala quando ainda éramos um casal, Anna e eu. Mas, de algum modo curioso, ele gosta de mim. Gosta verdadeiramente de mim, muito mais do que gostaria de qualquer outro homem adulto simpático e louco para agradar-lhe — e, Deus sabe, deve haver muitos desses orbitando em torno de Anna.
Miguel tem os meus olhos grandes, de um castanho dourado, e tem também a minha pele muito branca, as mesmas mãos que herdei do meu pai, de longos dedos, de unhas redondas. Quando ele me abraça, sinto a sua entrega, a doçura do seu abandono, amolecendo nos meus braços, o sorriso instalando-se no seu rosto amável. Sim, pois ele é um menino bastante amável.
E esse menino amável e eu temos permissão legal de passar apenas uma tarde por semana juntos. Eu pago as suas contas escolares, os médicos, as roupas que ele usa. Mas meu filho nunca, jamais, dormiu uma única noite na minha casa. A minha presença é quase perniciosa para ele, e é desse modo que Anna fala a todos os seus amigos. É assim que os amigos de Anna me olham: o pernicioso, o malévolo Key.
Mas Miguel ainda não sabe de nada disso; parece-lhe perfeitamente normal que seu pai e sua mãe sequer conversem, que mantenham apenas rápidos diálogos pelo telefone acerca das decisões fundamentais a respeito da sua pacata vidinha. Mas assim é que é, e assim, nessas minúsculas brechas de tempo, é que cresce e se solidifica o nosso amor. Porque eu amo meu filho, meus caros, amo-o até as raias do desespero. Mas um único escorregão pode redefinir toda uma existência — e talvez esse seja um dos motivos pelos quais afeiçoei-me ao jovem M.... Afinal de contas, que tombo levou o coitado!
Naquela tarde, antes da minha pequena viagem, caminhamos até o parque que fica perto da minha casa. Um parque simpático, frequentado pelos esportistas do bairro, pelas babás, as jovens mães, alguns senhores que levam seus jornais e livros para ler ao sol num dos bancos de ferro espalhados pelas aleias. Miguel gosta de lá, e sempre damos comida aos patos. Há um pequeno açude com patos, e levamos miolo de pão.
Enquanto jogávamos as bolinhas brancas na água, ele rindo e rindo, senti meu coração confrangido. Não posso lhes explicar o real motivo da minha angústia, posso apenas dizer que, vendo meu filho ali, pequeno e frágil e risonho, me ocorreu que um dia o próprio M. tivera uma tarde como aquela, que fora uma criança feliz, dando de comer aos patos de um parque de bairro.
Miguel ria, apontando seu dedinho inquieto e dizendo:
— Olha o pato, papai, olha o pato!
E eu sentia medo. Sentia um medo real e grotesco, absolutamente inexplicável.
Creio que uma análise da minha personalidade cairia completamente mal por aqui. Eu sou o narrador de uma história que me confiaram, de modo que meus próprios sentimentos e a minha própria história não deveriam fazer parte deste arrazoado. Mas, de fato, estas páginas só existem porque eu sou quem eu sou. Um homem quieto, um lobo solitário um tanto cínico, que rumina seus próprios erros em silêncio e que tem um único filho.
Meu filho... É basicamente isso: ele é meu ponto fraco. E Miguel parado lá, ajoelhado na grama, sob o sol macio do outono, sorrindo para mim com aqueles seus labiozinhos rosados, vibrando com a gula de meia dúzia de patos; ah, o que ele haverá de estar vivendo numa outra tarde como aquela dali a quinze anos? Que sustos, que decisões, aventuras, paixões e horrores esperam por ele nas curvas do futuro?
Assim, mantive-me controlado, sorrindo amarelo, até que a última bolinha de miolo de pão entrou na goela do último pato, e somente então abracei o menino, abracei-o quase com desespero, e disse-lhe:
— Miguel, o papai ama você. Não se esqueça nunca disso. Nem quando crescer. Está bem?
Ele soltou-se do meu abraço e, ajeitando a camiseta amarfanhada, disse:
— Eu tenho uma memória de elefante, papai. A mamãe sempre diz isso. Eu nunca vou esquecer, não se preocupe.
E eu ri para ele, dizendo que nunca me preocuparia então. Se a mamãe dizia que ele tinha uma memória de elefante, ele tinha mesmo e ponto final. Demo-nos as mãos e seguimos a trilha de cascalhos que serpenteia em torno das árvores.
— Tem mais uma coisa que eu queria lhe dizer, meu filho. Eu vou viajar por uns dias, vou viajar a trabalho, e não poderei levá-lo ao nosso passeio no zoológico no próximo fim de semana. Vamos ter que adiar esse passeio mais uma vez — disse eu.
Impressiona-me o quanto as crianças podem ser compassíveis com as nossas falhas mais toscas: o menino ouviu-me calado, sem demonstrar quaisquer ressentimentos, depois pulou no meu colo e pediu, simplesmente:
— Vamos tomar um sorvete, papai. A gente vai ao zoo outro dia.
E fomos.
Nós nos reunimos a duas enormes porções de gelato numa sorveteria italiana aqui perto de casa, e, depois de algumas agradáveis horas falando de tigres, zebras, pirulitos, patos e bolinhas de pão, confesso que eu já estava um pouco desapegado da ideia de seguir até Neptuno.
Como eu poderia consertar o passado? A tarefa de defender o jovem M. num tribunal era realmente inglória. E, perto de mim, havia um futuro inteirinho, absolutamente novo pela frente.
Talvez eu devesse largar toda a papelada do “caso June” e rever a minha posição quanto à guarda de Miguel. Afinal, quatro anos já se haviam passado. Eu vinha me comportando bem, não seduzia mocinhas no metrô nem me envolvia em escândalos amorosos. Nunca roubei, nunca soneguei impostos. Eu tinha sido um homem sacudido pelo vento de uma paixão doentia, tinha sim; mas aquilo fora um temporal e nada mais. Se eu pedisse uma nova audiência, quem sabe um juiz mais maleável não estivesse disposto a rever os termos da guarda de Miguel?
Passei o resto da tarde com esse pensamento. Dividido entre o jovem M., e toda a demanda do seu caso, e o desejo ardente, urgente, de ficar mais perto do meu próprio filho. Ao deixar, porém, meu pequeno Miguel com a minha bélica ex-esposa, que suspirou aliviada ao ver seu menino de volta são e salvo depois de uma tarde em companhia do próprio pai, cheguei em casa e revisei as minhas anotações sobre o assassinato de June.
Ao ler trechos do depoimento de M., tudo me voltou à mente outra vez. Evidentemente eu deveria lutar pelo direito óbvio de ser um pai efetivo para o meu único filho, mas antes havia aquela tarefa. Havia M. e o seu amor trágico.
Alguma coisa no rapaz havia me enfeitiçado — e me enfeitiça até hoje. Talvez o ponto fraco desse interesse que me corrói seja a sua grande semelhança com Alzamora, um homem cujo espírito sempre me encantou, um amante do lirismo, que admirava os dândis românticos, que pregava os excessos no amor, as loucuras do espírito e o direito ao egoísmo e ao hedonismo, mas que nunca aplicou, realmente, nenhuma dessas loucuras na vida real.
Estranhava-me o fato de que tantas conversas doidas, tanto fogo e tanta euforia masculina tivessem brotado misteriosamente no seu único filho, aquele belo varão de natureza aparentemente sensível, digno de um palco e de uma peça de Shakespeare, e que, no entanto, se jogara de cabeça numa peculiar paixão adolescente que extrapolou as raias da loucura.
Enfim, em casa, a doce influência do pequeno Miguel se embaçou ao ser confrontada com a incrível história de M. e de June. M., o herdeiro de uma estranha herança, misto de discurso e de desejo, de poética e de ficção. Uma criatura presa na gaiola de um amor louco, ou apenas um jovem louco, desequilibrado e belo, cujo destino escondia a bomba-relógio de uma tragédia que foi explodir entre os perfumados canteiros de rosas de Neptuno?
Ademais, confesso aqui que eu havia recebido um bilhete de Heitor Lupec (um bilhete via portador, e não um e-mail ou um telefonema) convidando-me a uma conversa a sós. Comoveu-me o texto simples e perfeitamente escrito, a honestidade orgulhosa e viril das poucas linhas que me enviou; e respondi, entregando a minha curta missiva ao homem que o próprio Heitor mandara até mim enquanto me sentia um personagem de uma novela americana do século passado, que o mais breve possível estaria com ele.
M. gozava então de liberdade provisória graças a um habeas corpus que eu impetrara. Estava fechado na casa da mãe, enquanto uma dúzia de repórteres famintos por qualquer farelo de notícia com a qual entreter os ociosos telespectadores dos programas vespertinos de TV aguardava, sentada no cordão da calçada na frente do prédio onde o jovem vivia com Elisa, que um deles saísse do apartamento nem que fosse por um instante.
Viajei de ônibus até Neptuno, exatamente como M. fizera havia alguns meses — queria entrar no cenário real daquela história do mesmo modo que ele. Cheguei ao alvorecer, depois de uma viagem tranquila, na qual dormi longamente, pois desde sempre os deslocamentos terrestres me enchem de sono.
Desci do ônibus revigorado, embora minhas costas doessem um pouco; afinal, o tempo não passa à toa. Olhei ao redor, tudo emanava um certo ar de sono, como se a noite se recusasse a partir da epiderme das coisas. Não era mais verão: havia no ar frio da manhã um leve olor de madeira queimada, hortelã e maresia. Era um cheiro bom, e a rodoviária deserta, com suas paredes de um desbotado rosa, com a pequena delicatéssen de portas fechadas e um discreto ponto de táxi assolado pelo vento que soprava do mar, pareceu-me acolhedora e gentil. Não era um lugar de encontros apressados e destinos que se dividiam, era um afável ponto de chegada, a porta de uma cidadezinha mansa, típica e ainda assustada com a recente tragédia de June. As gentes que ali chegavam, chegavam em casa.
Tomei um táxi e rumei para o melhor hotel do lugar, cujas tarifas, na baixa temporada — estávamos então no início de maio —, eram altamente compensatórias.
Confesso que era estranho voltar a Neptuno depois de tanto tempo, e as lembranças pulavam dentro de mim feito pipoca numa panela quente. Ah, aquele meu antigo verão terminara de forma abrupta, violenta. Dentro do táxi, seguindo pelas ruazinhas vazias, úmidas de sereno, ainda se revolvia em mim uma velha sensação de espanto.
Eu vivera uma paixão em Neptuno, vivera-a plenamente pelo curtíssimo período de três dias: mergulhara no proibido e me refestelara. E então, de súbito, tudo terminou. Anna abriu a porta daquele quarto quando era para estar dormindo ao lado de Miguel, do mesmo modo que costumava fazer todas as noites. Abriu-a e me viu ali, na cama com a outra. Bem, existe uma regra clara no mundo dos casais monogâmicos: você não deve dormir com um hóspede.
Não preciso dizer muito mais... Não sou um especialista nos sutis mecanismos da paixão humana: aconteceu comigo, em mim, ao meu redor. Tudo desmoronou, e o que era para ser apenas um caso de desejo desesperado e fugaz foi apenas um caso de desejo desesperado e fugaz. Eu acabei sozinho, vivendo naquele apartamento, detestado pela família de Anna e pelos amigos, vocês sabem bem.
Assim, sentado naquele táxi por causa da história de M. e de June, senti uma vez ainda o gosto daqueles beijos perdidos e o fel de todas as ofensas ditas. O passado parecia pairar sobre mim como uma dessas negras nuvens de tempestade... Por fim, resolvi voltar à razão, e ater-me aos motivos reais que me haviam trazido a Neptuno, e desisti da minha pequena cerimônia memorialística.
Cheguei ao hotel antes que o dia desabrochasse completamente. Era uma manhãzinha cinzenta e lúgubre, com alguma poesia silenciosa, um sei lá o quê que retumbava em mim. O passado faz dessas coisas com a gente. Quem nunca teve um desses súbitos mergulhos no ontem?
Mas voltemos, uma vez mais, à história de June e de M. Por causa deles, o táxi estacionou na frente de uma construção em estilo vitoriano, com quartos amplos que davam para um jardim florido, um pouco castigado pelo vento frio do outono mas ainda assim bastante bonito.
Depois de pagar o motorista e entrar sem qualquer ajuda na recepção sonolenta, registrei-me diante de uma mocinha esquálida e bocejante que parecia brigar com o teclado do computador e que me levou pessoalmente à minha suíte. Era um bom quarto, de cama grande, confortável, um sofá, uma cadeira, uma sólida mesa de trabalho e uma banheira de mármore encravada no centro de um banheiro de grandes proporções.
Meu quarto tinha uma vista para o jardim, e, da janela, enquanto o dia clareava totalmente, vi que lá fora começava uma garoa fina e tristonha. A chuvinha desceu sobre a minha alma como um pranto havia muito guardado, esquecido, negado mesmo. Pois, digo-lhes, eu me arrependi do que fiz naquela ocasião. Arrependi-me porque arrisquei tudo, e tudo perdi. A gente pode fazer certas coisas na vida até um determinado ponto, depois não dá mais.
Achei que não valia a pena sair com aquela garoa triste, e meu estado de espírito, vocês sabem, não era dos melhores. Então dormi o resto da manhã. Eu tinha tempo, bastante tempo, e só telefonei para o Sr. Lupec quando já era perto do meio-dia.
Duas horas depois desse telefonema, fui caminhando até o endereço que o avô de M. me passara. Foi fácil achar a casa, a geografia de Neptuno estava muito viva em mim ainda. Bem, a casa dos Lupec pareceu perfeitamente igual à descrição que M. fizera dela, e tanto, e tão bem, que lastimei que tamanho talento narrativo, tanto equilíbrio entre descrição e cena se perdessem no turbilhão de uma loucura passional. O jovem M. era, mais do que tudo, um narrador absolutamente qualificado, exímio em suas frases e no modo como ia e vinha através dos fatos daquela sua tragédia.
A casa era bonita, amarela e simpática — eu sempre apreciei casas amarelas. Mas não tinha, como as casas dos meus sonhos, uma paz que exalava dos canteiros de flores — era uma casa angustiada, dava para sentir de longe.
Heitor Lupec recebeu-me à porta. Era um senhor alto, aristocrático e com olhos inteligentes. Usava um blazer de tweed e calças jeans que lhe davam um ar divertido, mas seu semblante parecia apagado como uma vela guardada num armário. Apertou a minha mão com força e disse, ainda no alpendre:
— Agradeço-lhe que tenha vindo, senhor Key. Eu não poderia me ausentar, pois a pobre Ilma anda muito doente dos nervos, e com toda a razão. — Um sorriso triste perspassou-lhe o rosto, e ele acrescentou: — Queria muito conhecer o homem a quem o meu neto confiou toda essa história horrível.
— Apesar das circunstâncias — disse eu desajeitadamente —, é um prazer conhecê-lo, senhor Lupec.
— Chame-me Heitor — pediu ele. — E agora entre, faz frio aqui fora. O outono costuma ser muito úmido por esses lados. O vento marinho, o senhor sabe... Esse vento infiltra-se até nos nossos pensamentos.
Entramos no hall limpo e organizado. Reinava um completo silêncio na casa, e Heitor Lupec me conduziu até uma sala de estar grande, iluminada e simpática, que já estava em mim, exata, fruto das descrições de seu neto.
— Sente-se — pediu Heitor, indicando-me um sofá claro, amplo, e ocupando uma poltrona de leitura ao lado. — Ilma tomou um remédio para dormir. Ela tem estado muito abalada ultimamente.
— Uma situação deplorável, sem dúvida — disse eu.
Heitor lançou um olhar furtivo para a grande janela que dava para a praia. Lá fora, a neblina baixava sobre o mar, apagando-lhe os contornos. Sob a névoa, era possível ouvir o seu ruminar, como o de uma grande fera dormindo na toca.
O velho Lupec perdeu-se na contemplação da umidade dando o seu espetáculo lá fora, e esperei, pacientemente, que se lembrasse da minha presença.
Então, de súbito, ele recomeçou a falar:
— Dia desses, Ilma estava aqui, tentando ler um livro, quando um maldito fotógrafo apareceu à janela. Sabe, eu me pergunto quem realmente gostaria de ver a intimidade da avó de um assassino... — A voz do Sr. Lupec titubeou, e o velho virou-se para mim, arqueando os ombros. — Sim, senhor Key, pois, além de todas as tristezas, por June, por M., por nossa filha Elisa, ainda nos transformamos nisso, nos avós de um assassino. — Ele suspirou, apoiando as mãos nos joelhos ossudos. — Enfim, a pobre Ilma não quer mais sair de casa, vive cerrando as cortinas... Passa as tardes na cama, abaixo de calmantes.
— É uma situação muito difícil para todos, realmente. Da minha parte, fiz sempre o possível para manter o assunto com toda a discrição, mas a imprensa que se ocupa desses casos...
— Abutres — gemeu Heitor Lupec. — Bons livros sendo publicados sem nenhuma resenha, e páginas de fotos policiais, de entrevistas com vizinhos de gente que matou ou morreu. Poderíamos ter o melhor do gênero humano, mas temos sempre o pior.
Perto de nós havia uma grande bandeja sobre um aparador de madeira. Perfeitamente arrumados, um bule térmico, xícaras de boa porcelana, uma jarra de suco, copos e guardanapos. Heitor virou-se para a bandeja, olhando-a por um longo momento, como se tentasse recordar-lhe alguma remota utilidade.
— Aceito um café — disse eu, tentando ajudá-lo.
Ele sorriu-me gentilmente, era um homem de espírito delicado.
— Com açúcar ou adoçante?
— Puro — eu respondi.
Por Deus, eu estava muito constrangido naquela hora, e ainda estou agora, meses depois, tentando colocar tudo isso no papel de maneira vagamente compreensível. A ruína alheia é sempre constrangedora, não é mesmo?
Mas o fato é que o bom Sr. Lupec, com aquele ar de gentleman, o porte de professor-reitor e os olhos tristemente sábios, entregou-me a xícara cheia até a borda de um café espesso e fumegante, e então me disse à queima-roupa:
— Eu sinto o seu incômodo como um tapa, senhor Key.
Quase cuspi o café nas minhas calças de flanela azul, e o velho então sorriu, aparentemente satisfeito com a sua frase e o efeito que ela me causara.
— Veja bem, eu conheço relativamente pouco o meu neto. Não se criou junto de mim. Mas nada, absolutamente nada, poderia me fazer crer que ele seria capaz de matar alguém.
— Ele mesmo confessou a coisa — disse eu, separando-me da xícara com a maior urgência possível.
O avô de M. acompanhou o passeio da bela xícara de porcelana inglesa do meu colo até o aparador. Lá fora chovia, era uma tarde fria e triste, o café tinha um gosto bom, e a sala parecia inteira na expectativa de alguma grande revelação.
— Ele apaixonou-se pela menina June — disse Heitor Lupec. — Ela era impossível, uma danadinha mesmo... Via-se nos seus olhos. Achei que poderiam aprontar alguma, aqueles dois... June dava muita margem para comentários, e Neptuno é uma cidade pequena... — Ele sorriu por um instante, e uma luz alegre cruzou-lhe as retinas cinzentas, depois me fitou com seriedade renovada. — Pensava em uma gravidez, sabe. A mãe de June pariu-a aos 16 anos, nunca cuidou da menina, que foi criada pelos avós. — Deu de ombros, pensativo. — Essas coisas costumam se repetir em algumas famílias. Como uma espécie de fado.
Imaginei-o naquele verão, um gentil senhor letrado, observando de longe, já a salvo dos pavores da paixão, a lenta doença do neto. O verme do amor primeiro corroendo-lhe a carne, roubando-lhe o sono e o apetite. Teria lido Shakespeare e Flaubert atrás dos sintomas de uma doença de amor? Afinal, nem todas as paixões pressupõem a plenitude e o repouso, e o velho Heitor sabia muito bem disso. Olhava-me naquela tarde, e o outono chuvoso se refletia nos seus olhos lúgubres.
Então ele disse:
— Eu pressentia algo, sabe, senhor Key. O menino andava angustiado... Um bom menino, inteligente. Muito quieto, é verdade. Mas a minha filha nunca mais foi a mesma após o divórcio com Alzamora. M. padeceu disso, de algum modo... E então surgiu June, a esfuziante June.
— Vocês a conheciam havia muito tempo, não é? — perguntei por perguntar.
Afinal, tudo o que era necessário saber, os fatos, os números, os dias e as frases mortas, tudo isso eu já sabia. Eu tinha o esqueleto da coisa comigo, mas a alma... Ah, a alma daquilo estava irremediavelmente perdida. O instante exato em que a loucura tomou os dois jovens, acercando-se deles com seu jeito matreiro, isso, bem, nem eu nem ninguém jamais viremos a saber com certeza. O instante exato da virada. O começo do fim.
Mas Heitor Lupec se culpava; de algum modo, ele se culpava. Ele se sentia tremendamente obtuso em relação a tudo aquilo.
— Conhecíamos June desde criança. Muito boazinha — disse Heitor, olhando a praia lá fora, encoberta pela neblina. — Depois a puberdade veio e fez o seu trabalho, se é que o senhor me entende, senhor Key.
Eu sorri, mostrando-lhe que o entendia. Havia algumas mulheres assim. Mulheres que nunca passavam despercebidas aos homens. Como se cintilassem, emitindo um sinal.
— A gente olhava a menina June e sabia — prosseguiu Heitor. — Havia alguma coisa nela. Mas a pobre Ilma ficou muito feliz quando notou que os dois andavam juntos...
— M. contou-lhes logo?
O velho balançou a cabeça, negando.
— Ah, ele não disse nada, absolutamente nada. Mas dava para ver, notava-se nos seus olhos, na sua ansiedade em sair de casa. Não costumava citar June, absolutamente. Mas sabíamos. Então eu chamei meu neto, numa noite, e lhe disse: “cuide-se.” June era muito precoce, e os dois... tão novos. M. garantiu-me que tomava cuidado, que tudo estava certo. E foi muito sincero quando me confirmou isso. Muito sincero mesmo. Mas logo as férias estavam para acabar, e então, num dia, M. partiu de repente. Sequer despediu-se de nós...
Heitor Lupec levantou-se e começou a caminhar pela sala ampla e bem arrumada. Seus pés davam passadas simétricas, e ele ia e vinha, como um bicho enjaulado que considerasse as chances de fuga. Então soltou um grande suspiro agoniado, parou perto da janela e, olhos perdidos lá fora, resmungou:
— Não vieram hoje, os fotógrafos... — Soltou um risinho estranho. — Mas para que apanharem chuva? Amanhã ainda estaremos aqui.
Virou-se então e veio ao meu encontro. Seu semblante estava nebuloso como a praia lá fora.
Considerei que deveria ter sido um homem interessante na juventude. Ainda havia alguma coisa nele, digamos, bastante sedutora. Era um macho perfeitamente domesticado, versado nos manuais da cultura e da elegância; poderia estar atravessando a sala de fumantes de um clube inglês do século XIX, mas vinha até mim, pisando de leve a tapeçaria persa que Ilma colocara na sala de estar. Era essa linhagem de discrição, virilidade e civilidade que tinha ruído por terra com o terrível ato de M., e, além da dor genuína que o pobre Sr. Lupec sentia pelo neto, havia essa outra dor, essa mácula.
— No dia seguinte, o avô de June me telefonou. A garota também havia sumido. Você deve imaginar o que passou pela nossa cabeça, senhor Key... Uma gravidez, e a consequente fuga dos dois jovens. Mas, infelizmente, não era nada disso.
— A menina foi achada no porto?
Heitor Lupec concordou.
— Num cais abandonado. A adaga estava junto, como o senhor sabe. Uma bela adaga de cabo de marfim que eu comprei numa viagem. Muito antiga, eu a guardava numa gaveta do escritório, junto com outras relíquias de família.
Heitor Lupec suspirou fundo, e um pouco da sua serena energia pareceu abandoná-lo. Minguou diante dos meus olhos, apequenou-se. Quando me olhou, parecia muito cansado.
— Um bom menino, uma bela jovem. Não era para ser assim. Depois houve o depoimento daquele homem... O veranista, o tal Amis.
— Seu neto ainda está em choque. Isso não deve ser mais do que uma atenuante para o júri, mas ele não estava raciocinando bem, senhor Lupec, quando fez o que fez... Posso lhe garantir isso. Ela o havia encurralado, ela jogou com M., e June era uma apostadora temerária.
— Tenho pena do meu neto — disse Heitor finalmente. — Muita pena, pena mesmo. Mas nada disso importa mais, senhor Key. O que ele fez não tem volta. Os avós de June eram meus amigos, eu vi a mãe dela crescer. Estamos há muitos anos aqui em Neptuno... M. não matou apenas a pobre moça, matou a nós também, senhor Lupec. E, mesmo que June tenha provocado isso, embora eu não imagine de que maneira, ela não empunhou aquela adaga.
No andar de cima, passos soaram de repente. Heitor Lupec atentou para eles, na espera de algo mais. Talvez Ilma tivesse despertado do seu sono medicamentoso, talvez escutasse a nossa conversa, sentada no alto da escada como uma criança travessa que desobedecesse aos adultos. O fato é que o silêncio desceu sobre a casa novamente, e então Heitor Lupec voltou a falar:
— Sinceramente, nunca chegarei a uma conclusão. M. é um enigma para mim. E June também, caro senhor Key. A pequena June é um enigma, e permanecerá sendo o maior de todos, pois não nos pode contar a sua versão dos fatos.
Eu sorri, concordando. E então, sem nem mesmo saber por quê, mas talvez por achar Heitor Lupec tão elegante como o personagem de Ford Madox Ford, o capitão do Batalhão Catorze dos Hussardos, Edward Ashburnham, vi-me dizendo para o pobre homem:
— Todas as mulheres são enigmas, senhor Lupec.
Heitor Lupec mirou-me com um brilho de diversão dentro dos olhos cinzentos de gato, reconhecendo a minha citação brincalhona; e então disse, num meio sorriso:
— Mas nem todos os homens podem ser bons soldados, não é mesmo, senhor Key?
Não fui capaz de concordar com Heitor Lupec em voz alta... Talvez ele tenha visto alguma coisa nos meus olhos. O fato é que, de algum modo, eu mesmo era um desertor, e pagara um preço alto por isso.
Após a minha curiosa entrevista com Heitor Lupec, não tive coragem de voltar ao hotel. O fim do dia arrastava-se como um velho subindo uma ladeira muito íngreme. A chuva tinha cessado, e o vento varria as calçadas repletas de folhas encharcadas. A umidade no ar era tão palpável que eu podia sentir meus cabelos molhados. Fechei o máximo possível o sobretudo que usava enquanto zanzava para lá e para cá, espiando os esqueletos de belos jardins cujas flores hibernavam, fechadas, queimadas pelo picante ar marinho, à espera de um longínquo verão que as ressuscitasse novamente.
Levado por uma espécie de inércia, andei por muito tempo pelas ruazinhas de Neptuno. Eu me lembrava delas com a cara do verão, e sem a esfuziante cor desse período os jardins pareciam tristonhos, como se estivessem em luto por June. Cruzei ruas vazias e casas fechadas, quietas. Quando a tardinha escura finalmente cedeu espaço para a noite, o fumo das chaminés intensificou-se, brigando com a neblina que pairava no ar.
Crianças voltavam dos colégios, as cabeças enfiadas em gorros, e seus risos e chistes viravam fumaça no lusco-fusco do entardecer, subiam pelo ar, desaparecendo imediatamente no silêncio exausto. Ocorreu-me que, se as coisas não tivessem sucedido como sucederam, talvez eu cruzasse com June naquele momento — ela voltaria do colégio, uma touca de cor viva enfiada na cabeça bem-feita, e seu riso, suave e indolente, seria o único a não fenecer sob aquele céu mal-humorado.
Mas June não estava ali.
Nunca mais haveria de cruzar as ruas, nem sob o céu tormentoso nem nas tardes azuis de verão, e eu tinha de me contentar com as poucas fotos que Heitor Lupec me mostrara da menina, uma jovenzinha extraordinariamente bela, com uns olhos agoniados e pernas admiravelmente compridas.
As fotos que Heitor me mostrara de June, porém, ficavam muito atrás da descrição assombrosa que dela me fizera M. — por causa dele eu pensava em June como uma outra Lolita, muito mais cerebral e intensa do que a menina de Nabokov; uma Lolita que era o caçador, não a caça. E, de fato, eu pensava e pensava, e todos os meus pensamentos viravam fumaça, juntando-se às nuvens escuras que pairavam sobre Neptuno... E eu seguia pelas ruas, seguia em direção ao mar, enquanto o vento aumentava ao meu redor; eu me sentia tão vazio, mas tão vazio que a impressão de que sairia voando, levado para bem longe pelo vento marinho, ficava cada vez mais premente. Eu me sentia num sonho, e esse sim é um bom jeito de definir as coisas naquela tarde. Todas as coisas.
Anoitecia quando pisei na areia. O mar, encrespado pelo vento, ostentava a mesma cor fugidia dos olhos de Heitor Lupec e parecia tão revoltado e inconformado quanto ele. Um cansaço desusado tomou conta de mim — por Deus!, recordar pode ser uma coisa bastante custosa —, e fiquei muito tempo ali enquanto a noite descia sobre tudo, uma noite espessa como o café que me fora servido à tarde, uma noite sem estrelas, silenciosa.
Eu tinha ido até o porto e vasculhado seus recantos. Era um lugar alegre, sujo e barulhento. Um porto como qualquer outro, mas pequeno e, por isso, peculiar. Alguns homens altos e fortes, com cheiro de quem não tomava banho há alguns dias, descarregavam caixas de legumes de um velho barco que já tinha visto tempos melhores, empilhando-as na frente de um dos armazéns pintados de azul. Iam e vinham, concentrados na lenta tarefa de transferir batatas e cenouras da barriga do navio para aquela outra barriga, as entranhas do armazém de onde todas as provisões seguiam para o comércio da cidade.
Andei por ali, entrei num velho bar de paredes descascadas, tomei uma cerveja muito gelada num copo trincado e precisando de sabão, ouvi a conversa de dois marinheiros velhos, saí para o frio outra vez. O lugar onde June fora encontrada, num dos últimos armazéns do porto, já não guardava sinais do acontecido. Um cão sarnoso e simpático dormia calmamente ali, enrodilhado num trapo, protegido do vento que vinha do mar.
Não me foi difícil imaginar o encontro de M. e de June naquele lugar melancólico — M. apreciava lugares assim, romanescos. E June tinha lá as suas manias... Haviam brigado feio, como M. contou-me mais tarde, e a menina ameaçou-o com outro amor. Verdade, mentira? A história de June partiu com ela, e fico pensando nos motivos que fizeram o jovem M. empunhar aquela adaga, depois de roubá-la ao avô, e por que, entre tantas facas disponíveis, escolhera usar logo aquela, tão especial, tão peculiar, uma pista tão óbvia, tão vital?
Nem mesmo M. soube me explicar o porquê. As coisas acontecem mesmo sem muita lógica, ainda mais num caso como esse. Aquele rapaz não é um assassino serial, desses tipos malucos e antissociais que passam semanas trancados em casa fazendo planos e postando ameaças na internet; aquele rapaz é um jovem inteligente, desequilibrado por um amor, roído pelo ciúme. Um jovem que cometeu uma loucura, a maior de todas. Mas suponho que ele queria, no fundo, se entregar desde o começo da coisa. O fim que planejara, num gesto de desespero, não era apenas um fim para June... Não, ele estava incluído nesse epílogo, e hoje recrimino-me por não ter percebido isso antes. Tão claro, diante dos meus olhos, e eu fui cego.
Naquela noite, no porto, e, depois, na praia, alguma coisa pesava no meu peito. Era a premonição, ainda não nomeada, do destino que o jovem filho de Alzamora, o neto de Heitor Lupec, havia traçado para si mesmo. Duas linhagens de homens tão viris, tão encantadoramente argutos e estudados, cruzando-se assim, na pele daquele rapaz bonito, assolado pelo amor, escolhido para a tragédia como um desses angustiosos personagens da ópera italiana.
Voltei para o hotel e pedi o jantar no meu quarto. Lá fora, tinha recomeçado a chover, e a água tamborilava mansamente nos vidros da janela, transformando o mundo para além dali numa enorme mancha escura e borrada de umidade. Uma intensa melancolia tomou conta de mim. Refazer uma história triste, a mais triste de todas as histórias (outra vez Ford Madox Ford volta à minha mente), não é tarefa fácil. De certa forma, estando em Neptuno, eu refazia duas histórias tristes.
Apesar disso, eu estava com fome...
Comer sozinho é, talvez, a coisa mais difícil à qual um homem separado deve acostumar-se. Depois de anos, para mim, ainda é um suplício ficar cara a cara com um prato de comida sem que alguém compartilhe comigo o saleiro e algumas amenidades. Costeletas passivas, sopas discretas, raviólis apáticos, sinto falta de diálogo humano entre as garfadas. Enquanto comia sozinho, atirado na enorme cama da minha suíte, com seu edredom macio, a televisão ligada exibindo Audrey Hepburn no auge da sua beleza em Bonequinha de luxo, pensei vagamente sobre isso.
Comi sem prazer, afogando a minha fome em 400 gramas de picanha e uma salada de aspargos verdes bastante apreciável. Mas, quando Audrey Hepburn atacou de Moon River, meu Deus!, senti vontande de chorar — por mim, por Anna, por Miguel, por June, por M., por Alzamora e pelo bom avô Heitor Lupec, que nunca mais poderia andar de ombros erguidos pelas ruas da cidade onde vivera os últimos trinta anos da sua gentil e literária existência.
Aquele jantar pesou no meu estômago e, no dia seguinte, antes de correr para a rodoviária e tomar o ônibus das 8 horas, tive que pedir um antiácido para a mocinha que fazia o meu check-out. Ela olhou-me com certa pena, eu devia estar meio esverdeado mesmo, e disse, quase com carinho:
— O senhor deu azar com o tempo, senhor Key. Está chovendo há três dias.
Dei de ombros, entregando-lhe o cartão de crédito. Eu já tinha visto muito sol em Neptuno, e as coisas não tinham terminado melhores. Assim, disse apenas:
— Jantei tarde ontem, e a comida me caiu mal.
A moça não se deu por achada e retrucou:
— Com a chuva, tudo sempre fica pior.
Achei graça e parti.
Ainda chovia. A estrada estava em péssimo estado, e o ônibus teve um problema num dos eixos quando estávamos a 250 quilômetros de Neptuno. Ficamos horas no acostamento, assolados pela chuva e pelo vento, até que o socorro mecânico finalmente chegou. Os aspargos, o rosto de June, a lembrança de Anna chorando, o riso triste de Heitor Lupec, tudo pesava em mim naquela manhã interminável à beira da autoestrada serra-litoral, revirando-me na poltrona com um livro aberto no colo, um livro que não li e do qual não me recordo sequer o título.
Cheguei à cidade com quatro horas de atraso, no meio da madrugada. A chave girando na fechadura pareceu-me acordar o prédio inteiro; mas, depois que entrei em casa, recuperei um pouco da minha antiga tranquilidade. Pensava num chá de hortelã bem quente e na minha venerável cama quando o telefone tocou, trinando no meio da sala como um alarme antiaéreo.
Quando finalmente cheguei até ele, depois de topar com a quina da mesa por causa do escuro (eu ainda nem tinha acendido as luzes da sala), foi que me deram a notícia, a notícia...
Sim, o que eu não vira, o que eu não pudera ver, caiu em cima de mim como um piano sobre o transeunte distraído num desses desenhos animados de antigamente.
Blem. Blum.
Mas como eu não pudera realmente ver? Por que eu não fora capaz de juntar as duas pontas da meada? Estranho como, nos dias atuais, nos quais a modernidade se define pela virtualidade e pela absurda mobilidade de corpos e de informações, deixamos de lado certos instintos básicos, puros, que outrora indicavam o nosso padrão de humanidade.
O tempo todo eu pressentia alguma coisa em Neptuno, com o Sr. Lupec, no quarto do hotel, na beira da praia chuvosa, no ônibus com seu eixo quebrado; eu pressentia, atribuindo essa angústia ao passado e tentando apagar o mau agouro com antiácidos e balas de menta.
“Com a chuva, tudo sempre fica pior”, sentenciara a mocinha do concierge do hotel. Mas, por Deus!, havia coisas muito, mas muito piores do que uma cidade turística assolada pelo mau tempo.
Naquela noite, no escuro da sala da minha casa, enquanto do lado de fora da vidraça as estrelas cintilavam silenciosamente sobre o parque adormecido, pensei nisso e achei uma graça amarga. Às vezes, é preciso ter muito estômago mesmo para aguentar esta vida. Às vezes, a única vontade que temos realmente é de desertar.
Fiquei acordado o resto da noite, digerindo o que Elisa me dissera ao telefone. A mãe de M. parecia meio catatônica ao me dar detalhes da coisa, mas eu também, admito-lhes, não estava na minha melhor forma. Vocês sabem, eu gostava daquele rapaz... Eu me identificava com ele. No escuro da minha sala de estar, mais uma vez ainda, tive pena de todos nós. Todos nós mesmo. Tive pena até de vocês. Será que alguém realmente merece engolir as falcatruas da vida como quem mete para dentro uma dose de óleo de rícino, simplesmente porque alguém mais poderoso nos enfia uma colher de lixo pela garganta abaixo?
6
Estou dando voltas, ou pelo menos é assim que me sinto no meio desta história toda, do modo como estou colocando as coisas no papel. Uma narrativa concêntrica. Mas em algum momento não haverá jeito: chegarei ao nervo da coisa toda.
E vai doer, tenho certeza.
Vai arder e queimar. Eu gritarei pela casa, meus urros vão subir as paredes, trincar os vidros e escorrer pelo chão.
Mas é sábado, e estou sozinho aqui. Vivo sozinho, e, nos sábados à noite, horário no qual nenhum cliente jamais pensou em me incomodar, fico mais solitário do que nunca, a não ser que arranje alguma ovelhinha perdida disposta a sacrificar-se aos meus desejos mais secretos. Mas isso, infelizmente, vem acontecendo com raridade nos últimos tempos, vocês sabem bem.
De fato, estou cada vez mais recluso. Depois que a gente toma um bom pontapé da vida, passa a ter mais cuidado com a retaguarda, isso é um fato. Fico em casa lendo meus livros, o parque me espia de longe, com a lua passeando entre o arvoredo escabelado pelo vento, e certos ares fantasmagóricos cintilam na noite de outono.
Somerset Maugham tem me feito companhia ultimamente (foi o próprio M. quem plantou essa curiosidade em mim), de modo que me cerco de personagens ficcionais e fico longe das gentes de carne e osso. Aliás, foi mesmo Maugham quem escreveu: “[...] é evidentemente mais sensato nos ocuparmos com as criaturas coerentes, substanciais e significativas da ficção do que com as figuras irracionais e imprecisas da vida real.”
Não sei se ele tem razão, mas, olhando de longe, muitas coisas parecem bastante razoáveis. Até mesmo essa história toda do assassinato. Uma coisa hedionda, é verdade, mas com algum fundo de razoabilidade... Não que tenha sido uma atitude justa, ou coerente; mas quando alguém puxa demais o freio, bem, algum cabo sempre pode se romper, e a ladeira está sempre por um triz. Enfim, o que quero dizer é que dissecar o cadáver desse amor faz com que a sua morte me seja mais compreensível.
Mas vamos lá...
Percebo que estou dando mais uma volta, das tantas que já dei. E faz dois dias que estou trancado aqui, escrevendo. Não a defesa do filho de Alzamora que eu preparei minuciosamente para o dia do júri, pois já não terá serventia para mais ninguém; amanhã vou deletar tudo do meu computador. Mas, como M. e June não deixaram mais de me assombrar, e como não será mais possível exorcizar esse fantasma no tribunal diante de um júri louco para condenar o jovem assassino com seus olhos de Rasputin e seu porte de galã hispânico, sentei na frente do computador e comecei a escrever.
Os dois jovens separaram-se naquela primeira noite em Neptuno numa hora bastante avançada, como creio que contei anteriormente.
M. voltou para a casa dos avós. Entrou na ponta dos pés, fechou a porta com o máximo possível de cautela e, sentindo a faca ainda cravada em algum ponto misterioso do corpo, aquela faca invisível e afiada ao mesmo tempo, sentindo o corpo todo latejar de ansiedade, de alegria, de vida mesmo, subiu as escadas que levavam ao quarto que a avó lhe destinara.
No corredor escuro, caminhou com cuidado, pois sabia que Ilma tinha o sono bastante leve. Quando entrava na própria alcova, porém, ouviu a voz de Heitor Lupec:
— Pelo visto, você já arranjou companhia, meu rapaz... Havia humor nesse comentário sussurrado, e M. virou-se para o avô, que, parado de pijama no corredor escuro, segurava um copo de água.
Heitor Lupec sorriu para o neto e disse:
— Ilma esperou tanto que dormiu no sofá. Perdoe-a, estamos ambos numa idade na qual os hormônios já não são mais afetados pelo verão. — O velho professor deu de ombros, mostrando o copo: — A única coisa que o verão me causa agora é sede.
A luz da noite entrava por uma janela alta que havia num desvão do telhado, deitando sobre Heitor Lupec uma claridade difusa, amarelada. M. achou-o parecido com um prior, um reitor, um desses antigos cavalheiros cheios de brio e regras de comportamento. Por isso, não mentiu ao avô, mas disse-lhe apenas:
— Eu estava com June.
Bem, o velho Lupec entendeu tudo o que havia para entender. Ele não era nada bobo e estava acostumado a lidar com jovens lá na universidade onde trabalhava. A vida passa depressa, mas Heitor Lupec ainda tinha acesso à memória dos primeiros amores, da efusão, da euforia, do tormento absoluto da sua alma.
Ele sussurrou carinhosamente:
— A juventude é a embriaguez sem vinho, alguém escreveu isso em algum lugar. — Deu de ombros, mostrando o copo de água num brinde tolo, e disse: — Agora vá dormir, meu caro... E não esqueça de puxar a tela contra insetos, temos muitos mosquitos por aqui.
Despediram-se, avô e neto, no corredor banhado de luar. E assim M. jogou-se na cama de lençóis muito alvos para sonhar com June.
Não é difícil imaginá-lo rolando no colchão, no sono inquieto de desejo, no qual a pequena sereia de cabelos castanhos ia e vinha, rondando-o com oníricas promessas que não tardaria a cumprir na realidade.
E M. sonhou com ela a madrugada inteira, sem saber que logo as horas se levantariam entre eles, e depois os dias, e depois os anos.
Bem, logo na manhã seguinte, sem que tivessem combinado nada, os dois jovens encontraram-se na praia. A pequena June parecia fresca como uma rosa recém-arrancada — como a rosa que Ilma pusera num vaso sobre a mesa do café, olhando-o de soslaio, curiosa e ressentida pelo seu sumiço prolongado na noite anterior.
Quando M. terminava seu leite, engolindo sem saborear um pedaço de bolo, a avó achegara-se, dizendo-lhe: “Não se esqueça de hoje, meu querido. O nosso sarau.” E, como um consolo, emendara: “June virá com os avós.”
Agora andavam os dois pela areia úmida, e a manhã sem sol, cinzenta e pálida, espraiava uma luz bochornosa sobre o mar calmo, de um verde azeitonado.
Qual a necessidade de juntarem um punhado de pessoas em busca da poesia? A poesia era aquilo, aquele mar e seus segredos, o céu denso onde um rebanho de nuvens passeava sem pressa, o perfil de June, com seu pequeno nariz afilado, os zigomas salientes, aquele meio sorriso jocoso e doce ao mesmo tempo...
— E ontem? — ele perguntou.
June sorriu-lhe. Uma vertigem envolveu-o, fazendo-o recordar-se de como a vida poderia ser boa, e era.
— Ah, ontem... — disse ela, dando de ombros. — Minha avó estava bastante furiosa, mas eu sei acalmá-la direitinho.... Desde que minha mãe deu no pé, eu sou a sua pedra preciosa, você entende. Mas ela não vai andar por aí me exibindo no dedo anular. — E então, olhando-o nos olhos, atalhou: — Vamos até o molhe, vou lhe mostrar um lugar.
Os dois seguiram para a ponta da praia que ia terminar no porto. Perto do molhe havia um pequeno dente de areia. Só era visível pela manhã, quando a maré ainda estava baixa e em algumas noites, contou-lhe June enquanto caminhavam até lá.
O velho Bertuíno limpava seus peixes quando eles chegaram. Tinha sido ele quem ensinara a June aquele lugarzinho minúsculo, que cheirava a mexilhões, onde as gaivotas vinham descansar depois que os barcos de pescadores voltavam ao cais.
M. e June desceram o caminho de pedras de mãos dadas, cuidadosamente. As rochas, enormes e traiçoeiras, amontoadas ali havia dezenas de anos, pareciam bichos pré-históricos.
— Um tombo aqui não deve ser nada agradável — disse M. olhando o mar que se encrespava lá embaixo.
June riu. E tinha um jeito de rir dele, um jeito suave de menosprezá-lo. Mas as cintilações dos seus olhos, ah!, ele não podia com aquelas retinas... Quando June ria, parecia mesmo existir graça, e ele sentia que era justo rir do seu medo, da sua falta de jeito em descer a encosta de pedras, da ansiedade que o mar, quebrando de encontro às rochas, fazia vibrar no seu peito.
— Segure-me com força — pediu June, apertando-se a ele e fazendo com que seus seios lhe roçassem o peito. — Se você se preocupar comigo, esquecerá o seu próprio medo.
M. então sentiu o calor da carne dela fazendo ferver a sua própria carne, e de tal modo foi arrebatado por esse ardor que os dois quase caíram realmente.
Agarrou-a com força, e June o beijou na base do pescoço enquanto ele se esforçava por recuperar o equilíbrio. Lá embaixo, o mar parecia faminto. Ainda faltava metade do caminho, a parte mais íngreme, e o beijo de June queimava sua pele quando ela se desprendeu dele e disse:
— Vamos!
Rápida como uma cabra-montesa, rindo novamente da falta de jeito do rapaz, June escorregou pelas pedras até chegar à faixa de areia que ficava num desvão do molhe.
M. esforçou-se e finalmente alcançou-a, ileso. Na areia, o velho Bertuíno entregou-lhes um sorriso com alguns dentes faltando e, mirando June, resmungou:
— A menina não quer entrar na água para um mergulho?
June sorriu para o pescador e segurou a mão de M. como quem segura uma prenda que ganhou num parque de diversões.
Aquilo deveria ser muitíssimo penoso para o nosso jovem, mas ele aguentou como pôde. Era um rapaz forte, bonitão (eu já disse isso), mas, por algum motivo inexplicável, cedia em ser usado por June como uma espécie de brinquedinho de segunda mão.
— É que hoje estou ocupada com outro tipo de pescaria, Bertuíno — disse ela, gracejando.
— Uma garoupa hoje, uma só — retrucou o velho, levantando pelo rabo um peixe prateado. — Se June não vai ao mar, os peixes não vêm pra mim.
June já empurrava M. em direção ao pescador enquanto dizia, de forma impaciente:
— Ora, pescaremos juntos num outro dia. Agora quero que conheça M., meu amigo da cidade. Veio passar o verão. Vale bem mais do que uma garoupa, como você pode ver.
M. apertou a mão calosa que o homem lhe estendeu timidamente.
— Então é você quem está ocupando a nossa sereia... — falou Bertuíno enquanto juntava suas coisas numa sacola de couro muito gasta, que enfiou no ombro direito. — Quando June canta, os peixes ficam malucos e pulam na minha rede.
M. estava constrangido, mas disse:
— Não sei se ela canta bem, nunca cantou pra mim. Ela me pescou de outro jeito.
— Nunca se deve desperdiçar uma boa isca — retrucou o velho, sorrindo.
June não os ouvira.
Como se os tivesse esquecido, ela agora molhava os pés na água, arrancando mariscos da areia. Abria-os com uma agilidade que espantou o jovem filho de Alzamora, extraindo-lhes a carne branca, brilhante e viscosa. Depois de lavá-la no mar, engolia com um suspiro de satisfação, lambendo os lábios.
M. sentiu um misto de nojo e desejo, e esse último sentimento ganhou ímpeto quando imaginou a língua de June e seu gosto de maresia. Tudo em June era sal e brisa, e, de repente, M. clamava por ela.
Do oceano, começou a brotar uma neblina espessa, sonolenta e triste. June enfastiou-se dos mariscos, e não demorou muito para que os dois rolassem aos beijos na areia.
Acho que chovia então...
Imaginem um pedaço de praia esquecido do mundo, a parede de pedras separando ambos de todo o resto das coisas desimportantes desta vida. O mar, pesado, oleaginoso, com sua eterna preguiça de subir até as rochas. Ali estavam eles. Dois jovens cheios de vida, hormônios para ninguém botar defeito — creio que nada mais lhes importava.
Quanto a M., acabara realmente de descobrir a paixão em todo o seu fulgor. Tudo nele fervia de êxtase. June, por Deus!, era muito mais experiente nessas coisas — mais tarde, ela haveria de contar a M. sobre seus outros namorados, sobre o primeiro beijo aos 12 anos e sobre a primeira noite de sexo no banco de trás do carro do pai de um colega da escola, aos 13. Era bastante precoce a nossa beldade marinha, e a avó temia esse furor com todas as fímbrias da sua alma, mas pouco pôde fazer a respeito.
Evidentemente, logo depois haveria de surgir o outro. O homem mais velho, casado. Viera passar duas semanas em Neptuno, e June lhe saltara aos olhos no primeiro dia das suas feriazinhas. Várias coisas sucederam depois disso, várias coisas saltaram, efetivamente, para todos os lados, mas chegarei lá no devido tempo — voltemos aos beijos, mais um pouco ainda.
Ficaram os dois boa parte da manhã na praia e acabaram expulsos pela maré, que começava a subir. Houve mãos e bocas, e reentrâncias — vertiginosos passeios secretos, mas não muito mais do que isso.
Voltaram para casa cansados, loucos de fome.
M. comeu com gosto, os olhos embaçados, dizendo coisas alegres, dispensando gentilezas à avó, que o cercou de agrados enquanto o arguto Sr. Lupec apenas observava, saboreando aquele brilho nos olhos do neto, reconhecendo-o através dos anos, rememorando-o. Sabia com uma certeza que era quase instinto que June logo iria para cama com M.
June era como um desses bichinhos silvestres que sobem na mão da gente quando lhes oferecemos comida... A alegria dos turistas, fotografias como suvenir. Até que um dia eles mordem uma das mãos e arrancam um dedo, e então nada de fotos, nunca mais.
June afiava os dentes pacientemente. E Heitor Lupec tinha certeza de que não faltava muito para a dentada.
Olhando o neto mastigar o filet au poivre que Ilma tinha preparado pessoalmente, fervorosamente dedicada à cruzada de conquistá-lo, apesar das péssimas relações que vinha mantendo com a única filha, Heitor Lupec torcia que não fosse M. a perder o dedo nessa brincadeirinha.
Mas o Sr. Lupec podia pressentir, com um pinguinho de preocupação, que havia algo no rapaz, algo para além dos seus olhos, uma latência, um sopro. Havia algo, definitivamente. Porém, Heitor Lupec lia demais. E, dando de ombros, enquanto entornava o seu copo de suco de pêssego, o avô de M. atribuiu aquela ansiedade à mania de viver fantasiando.
Em voz alta, fazendo a coisa soar de maneira engraçada para M. e para Ilma, Heitor Lupec proferiu:
— A vida não é um romance.
Ilma olhou-o com uma malícia divertida e retrucou:
— Definitivamente, meu caro! A vida é muito diferente de um romance.
Naquela noite, os amigos de Ilma e de Heitor Lupec reuniram-se para o sarau. Uma enorme poncheira de cerâmica acomodava o ponche gelado, e bandejas espalhavam-se pela casa exibindo o curioso artesanato de Ilma, os seus biscoitinhos florais: as bromélias, margaridas, camélias, vitórias-régias e açucenas, cujos desenhos e cores impressionavam os visitantes, mas não a ponto de lhes refrear o apetite.
Os visitantes, aliás, eram um bando de velhos, ao menos aos olhos do nosso jovem amigo. Eram, de fato, gente inteligente, professores aposentados, um escritor que escolhera o refúgio de Neptuno para melhor se dedicar aos seus livros, uma professora de balé na faixa dos 70 anos, que andava flanando pela casa num vestido verde, comprida e estranha como um louva-deus que vem dar na varanda da gente depois de uma chuva prolongada. Todos riam e parafraseavam e folheavam seus livros.
Num canto, placidamente acomodado na sua poltrona predileta, Heitor Lupec observava tudo sem jamais morder um único biscoito, enquanto M. era levado pela avó, de convidado em convidado, e ouvia-lhes os elogios, as reminiscências, os poemas misturados aos farelos. Ele sentia o perfume das senhoras, contava-lhes as rugas e ansiava, mais do que nunca, que a porta do hall se abrisse, e June entrasse naquela sala abafada, cegando a todos como um sol.
Não demorou muito, seu desejo foi realizado. Estavam em silêncio, e Heitor Lupec abria o sarau, ainda na sua poltrona, empertigado e sereno como um nobre discursando na Câmara dos Comuns.
Todos o ouviam atentamente, e sua voz macia, suave volitava no ar abafado da noite. Dizia muito bem um poema de Borges, de quem ele gostava muito. Pelo relato de M. — cuja memória incrível até hoje me espanta —, posso dizer que era “A Noite em que no Sul o Velaram”.
Vejo Heitor Lupec na sua poltrona, os olhos argutos, cujas cintilações ainda recordo, e a boca de lábios finos, dançando ao som das palavras perfeitas de Borges.
Ele devia dizer mais ou menos assim:
— Pelo passamento de alguém – mistério cujo desconhecido nome possuo e cuja realidade não abarcamos – há até o alvorecer uma casa aberta no Sul, uma casa ignorada que não estou destinado a rever, mas que me espera esta noite com tresnoitada luz nas altas horas do sono...
Era a primeira estrofe, e toda a plateia ouvia-o com generosa atenção. Quando Heitor Lupec preparava-se para a segunda estrofe, falando de ruas e lembranças, June e seus avós chegaram.
Tresnoitada luz...
Era desse modo que June brilhou naquela sala, entrando em silêncio como uma aparição.
Vinha com o avô, Julius Morel, um senhor calvo, magro e discreto, que trazia um volume de Donne sob o braço. Eram precedidos pela Sra. Morel, um pouco apertada no seu vestido novo, com um prato de bolo nas mãos e seu eterno e débil sorriso desenhado no rosto.
A chegada da nossa sereia doeu em M. Doeu como um soco, e todo o encanto de Borges sumiu-se feito fumaça diante da carnalidade da sua beleza, dos olhos algo traiçoeiros, algo dóceis, e do sorriso com que ela brindou o jovem para o qual batia o seu coração naquela noite.
Eram ambos contra o resto — dois seres cheios de tudo, de viço, de vida, contra toda uma sala de pessoas já meio gastas pela desesperança, pelo medo, pela doença, pelo tempo.
June olhou-o como a um igual, e meu jovem cliente sentiu a faca mover-se um pouco mais dentro do peito, entrando fundo, tocando o osso.
— Venha — pediu ele baixinho.
E June escorregou até M. enquanto lá fora o primeiro trovão gritava no céu, e Heitor Lupec pigarreava entre dois versos, e a angustiosa noite de Borges outra vez se erguia entre todos, ela sim o morto verdadeiro, enquanto M. e June davam-se as mãos, e ela dizia, quase ao seu ouvido:
— Eu também tenho um poema.
E então o nosso amigo abaixou os olhos e viu o livro fino, com o nome de García Lorca na lombada, e amou-a ainda mais, amou-a muito, comovido de uma maneira que não sabia sequer compreender, porque June portava o livrinho que o avô lhe emprestara e porque o mostrava a ele, ali, no canto daquela sala repleta de pessoas.
Ao que tudo indica, a bela June não declamou nenhum verso naquela noite, porque depois do primeiro trovão veio outro, e outro, e logo os raios cruzavam o céu, e um temporal de verão, furioso como um deus esquecido, varreu as ruas de Neptuno, e encrespou o mar, e fez soprar o vento.
Entre exclamações de pasmo e de lástima dos convidados do casal Lupec, a luz faltou não apenas na casa, mas na rua inteira. Um verdadeiro espetáculo dos céus, eu diria, um presente caído no colo do nosso casalzinho apaixonado.
E os dois aproveitaram-se disso para fugir.
Deixe-me ver... Creio que escaparam pelos fundos enquanto Ilma pavoneava-se em busca de velas e de castiçais, e Heitor aproveitava para engolir a terceira taça de ponche sem ouvir recriminações por parte da esposa. Heitor Lupec deveria estar contente; afinal, a casa, escura, ganhava um pouco da atmosfera lúgubre do seu poema. Sentado na sua poltrona, ouvindo o chilrear dos convidados à espera das velas, o Sr. Lupec tinha certeza de que havia até mesmo um morto em algum lugar... Mas, quando Ilma finalmente pôde clarear um pouco as coisas, não encontraram morto algum, apenas a ausência dos dois jovens.
Ilma suspirou de tristeza, porque contava com a brilhante atuação de June e porque sentia que M. lhe escorregava das mãos um pouco cedo demais. A Sra. Morel, porém, definitivamente perdeu o humor — a cada verão, a neta parecia disposta a criar barulho maior! Julius Morel acalmou-a, dizendo que, pelo menos, andava June com o neto dos Lupec, e que os dois juntos não iriam aprontar nada demais.
De fato, M. e June não ambicionavam nenhuma publicidade para a sua paixãozinha, não ainda. Fugiram para o molhe, vencendo as pedras escorregadias e as golfadas de chuva, e não sentiram frio, juntos, abraçados, olhando o temporal que assolava a praia, enfurecendo o mar outrora tão calmo.
Ensopados, correram do molhe para um lugar mais seco, e June levou M. até o velho armazém abandonado que ela conhecia tão bem, cuja porta tinha uma tranca rota, e onde, num cantinho sob as caixas vazias de papelão, ela deixara, havia alguns meses, uma dessas esteiras de palha vendidas a metro nas feiras de artesanato, larga o suficiente para duas pessoas. Bem, ela era uma mocinha organizada, era mesmo!
Chovia forte lá fora, e a esteira estava úmida, mas creio que sou eu quem está acrescentando isso. Não recordo de uma única queixa do meu cliente...
Ele narrou-me sua primeira noite de sexo com a bela June como quem cantava uma ária. Havia emoção, muita emoção. Ou, talvez, melhor dizendo, era o diário de um explorador ao chegar em terra desconhecida, no paraíso perfeito. As reentrâncias, as alvuras, a maciez, os cheiros, o calor, o peso, o gosto, tudo. M. não me poupou de nada, absolutamente nada. Entrei com ele na carne de June e ouvi seus gemidos ao pé do meu ouvido. E tive, ai, meu Deus!, uma ereção plena e real enquanto o ouvia contar dos beijos, dos abraços, da pele âmbar e cintilante, do farfalhar dos suspiros de June...
Ela não era mais virgem, e M. — que não estava no ápice da sua experiência sexual, mas que já contabilizava algumas investidas a respeito — notou o fato sem se importar muito com isso. June era dele, e M. a queria de maneira irrevogável. O antes tinha sido apenas uma maneira de aproximá-los, palavras do narrador.
Dormiram ali, os dois, na esteira úmida, no armazém deserto, enquanto lá fora a tormenta açoitava Neptuno, arrancando árvores e desfolhando todos os roseirais dos jardins. A chuvarada também despediu os convidados do sarau dos Lupec, pois ficava mesmo muito difícil ler poemas sob a luz de velas com tantos graus de miopia e astigmatismo, ajeitando os óculos na ponta do nariz, maldizendo as lentes, esvaziando copos de ponche na sala escura, as cortinas enfunadas pelo vento, entre risinhos e blasfêmias contra o temporal.
Muito mais tarde, M. acordou com frio.
A madrugada ia pelo meio. O jovem abriu os olhos de repente, e a única luz que o guiou entrava pelas graúdas frestas da parede — uma luz mortiça, prateada e vacilante, que parecia a luz de um sonho. June dormia calmamente ao seu lado, os longos cabelos ocultavam o rosto sereno, a pele luzindo sob o toque da claridade que se filtrava, escorregando pelos contornos do seu belo corpo jovem.
E foi então que M. viu o longo, elegante e inquieto rabo de sereia de June. Crescia-lhe, como uma surpresa absurda, do ventre macio. E movia-se, silenciosa e ritmadamente, como um peixe que nadasse em águas mansas, como uma excrescência viva daquele corpo de deusa.
Ele arregalou os olhos. Tocou-se e sentiu o próprio toque: a mão suada sob a coxa.
Não, não sonhava.
June exibia diante dele um fascinante rabo de sereia, e o suave ciciar das minúsculas barbatanas nas fibras da esteira de palha era como o barulho do vento noturno cantando nas frestas do galpão.
À luz dos raios que riscavam a noite lá fora, o enorme rabo de sereia dançava devagarzinho, embalando o sono de June. Tudo o mais era ela, tudo o mais ele tocara, beijara e lambera havia pouco tempo. Ah, ainda podia sentir o gosto daquela boca na dele...
Esticou a mão levemente e, com um dedo trêmulo de curiosa expectativa, tocou numa única barbatana cinzenta, de um tom levemente perolado, e sentiu-lhe a frieza e a misteriosa viscosidade. Nesse instante, suas narinas captaram um fugidio perfume de mar, como se tivesse enfiado o nariz nas entranhas de uma concha.
Então, a bela sereia remexeu-se no seu sono e, de súbito, era apenas June outra vez...
Uma menina de 15 anos, linda e inteligente, destemida e indomável. Uma equação sem resposta, a vizinha de Heitor e de Ilma.
Depois de narrar a sua primeira noite de sexo com June, M. foi embora para casa exausto. Não era uma tarefa fácil, não era mesmo — digo-lhes: nem falar, nem ouvir o que era falado, e ouvir com o espírito limpo, leve, alheio à carne. Eu já disse, o jovem filho de Alzamora era um grande narrador. A sua voz ia e vinha, dava voltas, erguia-se, desenhava curvas, acalentava a carne, dizia o gosto da língua, da vulva; dizia a cor da pele, dos olhos, dos mamilos de June...
Despedi-o naquela noite com a alma por um fio. Sou um homem normal, meus caros, e um homem bastante solitário ultimamente. Era muito tarde quando M. partiu, após a combinação de voltar bem cedo no dia seguinte, quando teríamos que discutir os próximos e cruciais passos do seu futuro — M. deveria entregar-se à Justiça, assumindo o crime que cometera em Neptuno antes que a polícia chegasse até ele. Tinha saído muito abalado daqui, vocês podem imaginar... E esquecera, sobre a mesa do meu escritório, ao lado do copo vazio onde tomara sua Coca-Cola, a única foto que tinha de June.
Voltei para o escritório, depois de passar a tranca na porta, e comecei a recolher as minhas anotações. Eu estava muito confuso, todas aquelas frases, aquelas cenas, as imagens dando voltas feito moscas na minha cabeça — Neptuno, o mar, uma tarde de sol, a tempestade, o negrume do céu furioso, a esteira de palha no armazém abandonado, e June... June inteira, gritando dentro de mim, dando socos no meu estômago, negando-se a morrer outra vez, depois de haver sido ressuscitada pela competente narrativa do seu próprio assassino.
E então eu vi a fotografia...
Não sei se posso descrever June para vocês melhor do que M., creio que não.
Mas, por Deus!, a June daquela fotografia estava pedindo que fosse comida às mordidas. Era uma coisa fresca e úmida, como uma fruta num balcão desses supermercados elegantes, e a minha boca era quente feito uma tarde de janeiro. Eu estava um tanto alterado, mas talvez nada justifique eu ter pegado a fotografia e levado comigo para o quarto naquela noite — um pequeno e temporário roubo incapaz de mudar o curso dos acontecimentos.
E como era uma fotografia, e como June nunca mais há de sair daquele retângulo de papel colorido, e como a sua boca nunca mais há de se abrir para dizer nenhuma palavra, para beijar nenhuma outra boca, para mentir ou bajular, para chupar o pau de alguém ou dizer um poema, o que lhes conto, meus amigos, é um segredo nosso.
Não sei se alguém vai ler isto...
Talvez eu destrua cada uma destas páginas; talvez não, apenas esta.
Vale dizer que estou sendo absolutamente sincero, até mesmo porque fiquei chocado comigo. Chocado por sentir desejo por uma menina morta, chocado por excitar-me com a narrativa de seu jovem assassino, e pasmo por ainda me recordar da ereção que me acompanhou durante aquela angustiosa madrugada, e dos sonhos que tive, todos eles, nos quais era eu mesmo quem estava transando com June, e era nos meus braços que ela gemia e gritava, e era o meu pau que entrava na sua carne — não uma, mas muitas vezes, num sonho orgiástico que me acordou no meio da noite com a boca seca.
E eu teria pago todo o dinheiro que tenho no cofre por uma mulher que me aliviasse daquele desejo — uma mulher viva, se é que vocês me entendem. Mas então abri os olhos no escuro do meu quarto, e da janela vinham as luzes da rua, o piscar de um luminoso e os ruídos da noite na cidade lá embaixo; e então eu acendi a luz de cabeceira, e a minha mão, como um bicho alheio e impudico, pegou a foto de June sobre o criado-mudo e ofereceu-a ao meu pau faminto. E foi a melhor punheta que eu bati na vida, gemendo por June com as palavras de M. ainda nos meus ouvidos, a sua voz melíflua contando em detalhes tudo, absolutamente tudo, e eu me derretendo por June na minha cama de divorciado solitário, sentindo-me pecaminoso como havia muito eu não me sentia, desde que deixei o colégio de padres aos 14 anos.
Isso aconteceu realmente, intensamente. Depois do quê, meus caros, eu voltei a dormir, e dormi como um anjo dorme o sono dos justos, como diria a minha avó.
Na manhã seguinte, quando o filho de Alzamora voltou até mim, lavado e limpo, barbeado e usando uma roupa simples e elegante, exatamente como eu lhe pedira que viesse — bem-posto sem parecer ofensivo, honesto como um jovem que se coloca diante da banca de professores no fim do curso —, bem, a foto já estava outra vez sobre a mesa, exatamente no lugar onde fora esquecida.
Quando ele entrou na sala, ansioso e belo como um jovem noivo (apesar das marcas azuladas que pairavam sob seus olhos insones), e correu a pegar o retrato, do qual certamente sentira falta na noite anterior, eu juro que vi a deliciosa June piscando um olho para mim, piscando seu olho azul lá do fundo da fotografia, com seu vestidinho curto, e aquele sorriso meio demoníaco e feliz congelado numa tarde de verão que já não existia mais.
E continuamos, M. e eu, a nossa conversa do exato ponto onde havíamos parado, alheios aos nossos segredos e remorsos, grandes e pequenos, e ao que cada um de nós fizera e calara naquela estranha madrugada.
M. contou-me então que, após a aparição do rabo de sereia, ele caíra no sono ao lado de June. Caíra num sono exausto, uma espécie de apagão. Não se lembrava absolutamente de mais nada daquela noite, a sua primeira noite com June.
— Nada? Absolutamente nada? — perguntei.
Ele olhou-me com seu rosto bonito e angustiado, e vi que sua face estava marcada pelo cansaço. Nenhum de nós dois tinha realmente dormido muito, pensei. E então ele sorriu levemente, era mais a sombra de um sorriso, eu diria... A lembrança de um sorriso que aquela boca já sorrira em outra ocasião.
— Foi como se me tivessem desplugado — respondeu M. com aquele sorriso fantasma no rosto. — Aquela noite foi um branco total. Na manhã seguinte, eu despertei naquele galpão ao lado de June...
Ah, meu caro rapaz! Já se passou algum tempo depois dessa manhã, do nosso segundo encontro no meu escritório... O tempo corre veloz... Mas eu posso vê-lo tão claramente, posso vê-lo como se M. ainda estivesse aqui, sentado na minha frente. As longas pernas estendidas, os pés apoiados sobre o tapete que eu trouxera da Argentina numa viagem com minha ex-mulher Anna, as mãos no colo, os belos olhos escuros e úmidos, pesados de lembranças.
M. tinha apagado e acordado no dia seguinte naquele galpão do cais. Depois, os dois se vestiram e voltaram para suas casas. Parece que houve uma reclamação ou outra, mas isso não era o mais importante. M. fitou-me por um momento, seu rosto inteiro ainda vibrando na memória daquele instante recuperado.
E então ele disse:
— Você não acredita no que lhe contei sobre, bem, sobre o rabo... O rabo de sereia... Não é mesmo, senhor Key?
A coisa mais estranha de todas é que eu acreditava nele! Acreditava piamente. Por Deus, eu estava me tornando bastante crédulo... Ao ouvi-lo falar, eu quase pudera tocar as barbatanas, correr meus dedos pelo longo e frio rabo prateado da nossa pequena sereia. Vocês sabem agora o quanto o jovem M. tornou June real para mim.
No entanto (como era de se esperar depois da loucura que me tomara durante a madrugada), eu tornara a vestir o meu uniforme de advogado. Era fundamental, era absolutamente fundamental ser o advogado correto e inabalável que M. precisava ao seu lado. Ele não precisava de um homem, meus caros, ele precisava de um apoio, de um guia, de um regaço profissional e alheio a qualquer paixão. E esse regaço era eu.
Pigarreei incomodado, mudando de lugar na minha cadeira, respondendo numa voz melíflua alguma coisa sem muito sentido, mais ou menos como:
— A vida é um sonho, meu caro M.
O filho de Alzamora empertigou-se e, depositando sobre meu rosto o seu olhar arguto, insistiu:
— Acredita ou não, senhor Key?
Lá fora, a manhã ia pelo meio. Ventava como na narrativa de M., mas era o outono que soprava as folhas das árvores, empurrando o tempo para a frente e sujando as calçadas que circundavam o parque diante do meu prédio.
Olhei-o longamente, e como era parecido com o pai quando me fitava naquele alvoroço!
Então lhe disse:
— Eu posso acreditar em qualquer coisa... — E, quando ele ia argumentar, antes que o primeiro som lhe escapasse da boca, acrescentei devidamente: — E isso é muito mais do que devo lhe dizer, meu rapaz.
Acho que foi isso que aconteceu naquele dia...
Ou melhor, naqueles dois dias, no armazém em Neptuno, onde June e M. refugiaram-se, e no meu escritório na cidade. Tenho quase certeza de que tudo se passou exatamente assim. Eu não escondi nada, absolutamente nada... Todas as palavras, todas as imagens eu tentei recriar aqui. A mítica aparição da nossa sereia, e outra vez a realidade que era June.
Talvez, bem, talvez tenha havido um pouco mais de sexo (M. era muito bom nas suas descrições eróticas), mas o fato é que nada disso importa mais aqui... Outros vendavais assolaram Neptuno, e espalharam por ruas distantes os restos dos roseirais desfeitos como naquela tormenta da noite do sarau. Nem que vocês andem e andem por lá, não irão mais encontrar nenhuma pétala.
7
O relacionamento dos dois durou seis semanas. Parece pouquíssimo tempo quando a gente se esquece de como é ser jovem. Mas, para M., foi um caminho sem volta. Estava embriagado de June. Doente de June. Ela era a droga que ele injetava na veia todo dia pela manhã.
Por causa dela, roubou um vestido de um varal numa noite de lua porque June dissera “simplesmente precisar daquilo”, daquele exato vestido de conchas brancas sobre a seda azul. Ele então pulou uma cerca, correu mais de dez metros num jardim alheio e, enquanto as estrelas luziam lá no alto, cálidas, fugiu de um cachorro furioso, trazendo a prenda de June entre os dentes, e logrou pular o muro antes que o bicho lhe arrancasse um dos pés. Foi mordido, e negou-se a tomar a vacina antirrábica, embora Ilma tivesse lhe implorado até a exaustão.
Mas também houve exigências por parte do nosso jovem Romeu — era ciumento, furiosamente ciumento, e me atrevo a pensar que foi esse ciúme que fez com que June começasse a se cansar daquilo tudo. Pois ela era capaz de pular na mão de outrem, e receber agrados e até mesmo tirar algumas fotos de suvenir, mas simplesmente não podia suportar que essa mesma mão se fechasse, como um muro, separando-a do resto de todas as coisas que poderia ter e provar.
Não que June tivesse muitos amigos, não mesmo; era uma garota tida como estranha entre os colegas de classe. Era inteligente demais e, sexualmente, estava muito além da faixa etária da sua turma. Alguns garotos mais velhos do colégio costumavam paquerá-la, mas June pouco se interessava pelos jovens das redondezas.
No verão, ela costumava angariar um bom grupinho em torno de si. Gente de todos os tipos, é claro, rapazes que vinham da cidade grande passar as férias em Neptuno, e outros nem tão rapazes assim... Como um velho amigo do seu avô, que a levava ao cinema algumas noites por semana, presenteando-a com livros, caixas de bombons e bijuterias inofensivas apenas parar manter o privilégio de tocar nos seus ombros enquanto a mocinha beijava o mocinho no telão, ou tomar-lhe a mão para ajudá-la a sair do carro, ou, ainda, roçar seu antebraço na perna quente e rija de June enquanto, numa curva, reduzia a marcha na caixa de mudanças.
Tudo isso era um jogo para June. Ela, de fato, detestava os avós, as missas de domingo, os almoços na copa, as viagens de ônibus até a capital para comprar roupas mais baratas e material escolar com desconto.
June queria uma outra vida, e tanto que sequer sentia mágoa da mãe que a abandonara: parecia-lhe mesmo lógico deixar para trás os Morel e toda a sua rotinazinha de família católica interiorana. Ela queria ir embora, e logo. Mas, efetivamente, precisamos concordar que o jovem M. não era uma boa passagem de ida para lugar algum. Morava com a mãe e era apenas alguns anos mais velho do que a própria June, não tinha como sustentar-se, nem sustentá-la, e toda a sua beleza e dedicação valiam pouco diante de tais argumentos.
Assim, June e M. transaram muitas vezes — na praia, no armazém do porto, no molhe, no quintal dos Lupec numa noite sem lua. Mas June nunca ambicionou mais do que isso. Um namorico de verão, dizia ela para acalmar a avó aflita enquanto já espichava os olhos para o jovem casal que alugara um dos sobrados da rua de trás, e que passava, ao fim de cada manhã, diante da sua casa no caminho da praia.
Agora corta.
Nova cena: uma tarde de sol na praia. Um dia realmente magnífico, o dia idílico de umas férias de verão. Areia repleta de pessoas, isso tudo que você já conhece...
Nosso jovem tinha acabado de sair do mar e jogara-se ao lado de June na ampla toalha que os dois dividiam.
Olhando o céu, molhado e salgado de mar, sentindo o maravilhoso calor de June ao seu lado, M. apreciava o belo espetáculo da vida, aspirando fundo o ar azul e sorrindo de prazer. Era bom ser jovem, ainda faltavam três semanas para o reinício das aulas, e ele cogitava seriamente trancar a faculdade e ficar por ali mais um tempo, simplesmente aproveitando a vida ao lado de June. Claro, não tinha sequer tocado nesse assunto com a mãe, a avó ou Heitor Lupec. Era uma ideia, uma ideia cada vez mais tentadora.
M. levou a mão até o quadril de June e roçou os dedos pelo seu biquíni amarelo, sentindo a saliência de um osso por baixo da pele. A pele de June ardia como uma fogueira, como uma caçarola aquecendo-se em fogo brando há meia hora. Dava para fritar um ovo ali, mas o que chiava era o coração do nosso amigo. Bem, o coração e outras partes do seu corpo também...
Mas, ao toque dos dedos de M., June encolheu-se de modo curioso, como um bichinho fugindo de um desconhecido, como alguém que levou uma pequena descarga elétrica. M. virou-se de lado e achegou-se a ela, estranhando-lhe os modos.
— O que houve? — perguntou ele com a sua voz mais macia.
Mas June, sequer o olhou.
Ela era bem assim, uma pequena egoísta fartamente bela. Fingia dormir sobre a toalha, mas, por trás dos óculos escuros, M. podia perceber que June tinha os olhos levemente abertos, fixos em algum ponto da areia mais adiante. Ela estava atenta como um caçador fazendo mira na sua presa.
Ele virou-se, então, tomado de ciúmes e curiosidade, e o que viu foi um casal jovem, na faixa dos 30 anos, a uns quinze metros deles.
A mulher, uma loira alta e bastante magra, folheava uma revista, sentada numa cadeira de lona colorida, e resmungava alguma coisa de vez em quando. Ao seu lado, o homem — o verdadeiro alvo de June — espreguiçava-se sob o sol, acomodado numa esteira, olhando o mar e respondendo, sem muita vontade, aos comentários da sua acompanhante. O homem riu de alguma coisa, e seus dentes brancos luziram na tarde azul, luziram como o aço de uma adaga, e M. sentiu um estranho mal-estar descendo-lhe pelos membros.
Então, subitamente, o homem virou o rosto para o lado onde June e M. se encontravam e, quando seu olhar cruzou com os olhos do meu jovem amigo, as suas feições endureceram, e ele abaixou o rosto.
A faca acomodada no âmago da sua alma deu sinal de vida outra vez, e M. sentiu-lhe o fio entrando, mais e mais fundo, escavando a ferida antiga. Virou-se para June, e agora ela olhava fixamente o estranho, esquecendo-se de que fingia dormir havia pouco. Tirara os óculos, e seus belos olhos azuis pareciam transbordar de cobiça.
M. angustiou-se. A tarde perdeu toda a graça, e, queixando-se de uma dor de cabeça, fez com que deixassem a praia.
June foi embora resmungando, sem um beijo, sem um único sorriso para ele. E M. não pôde deixar de notar o quanto o seu passo arrastou-se quando ambos passaram perto do casal, e como o olhar duro e glutão do homem acompanhou-os ainda por um longo tempo até que vencessem a longa faixa de areia até a rua.
À saída da praia, M. virou-se para ter certeza. E lá estava o homem, parado à beira-mar, alto e rijo, os braços cruzados sobre o torso, fitando-os com aquele mesmo olhar orgulhoso e cheio de si. Perto dele, a mulher loira parecia não notar nada. Então June riu baixinho, sem motivo aparente, enquanto, sentada numa pedra, calçava suas sandálias de corda.
M. virou-se para ela e perguntou:
— Por que você está rindo?
June deitou sobre ele seu olhar debochado e retrucou:
— Ora, estou feliz, simplesmente isso. É um motivo maravilhosamente bom para rir.
E, sem um adeus, ergueu-se e tomou o rumo da casa dos avós, deixando nosso jovem Romeu parado na rua, o peito em brasa, olhando-a afastar-se como quem fita uma joia adorada que, por descuido, deixou cair num bueiro.
June parecia-lhe absolutamente inalcançável, avançando pela rua sob a sombra das árvores, a cintilância da tarde coalhada pelas folhas das ramagens compondo desenhos dourados sobre a sua pele bronzeada.
Naquela noite, depois de um telefonema e uma desculpa para não jantar com os avós Lupec, os dois voltaram ao armazém. June estava carinhosa e esquiva ao mesmo tempo. Sob o céu pontilhado de estrelas, ela abriu o cadeado roto e, com um sorriso, convidou M. a entrar no velho depósito como se o convidasse para o seu próprio quarto. Um sorriso estranho dançava-lhe no rosto, e M. tocou-a com delicadeza, como se ela pudesse diluir-se ao seu toque.
Enquanto corria os dedos pelo seu pescoço, ele ousou perguntar:
— O que você tem?
Ela aproximou-se dele e disse baixinho:
— Nada. Hoje é lua cheia, gosto das noites de lua cheia.
— Mas você não é um lobo — brincou ele.
— Decerto também não sou um cordeiro...
M. então lembrou-se pela vigésima vez da cena na praia, dos olhos daquele homem, do meio sorriso que ele exibia ao fitar June e do modo como ela o olhara disfarçadamente durante todo o tempo.
Agarrou-lhe os cabelos, beijando-a com fúria. Crescia nele uma vontade de machucar June, de feri-la como ela costumava feri-lo; mas, então, adivinhando-lhe os instintos e querendo apaziguá-lo, ela tirou a blusa que usava num único gesto hábil, e seus seios jovens, alvos e palpitantes, luziram à meia-luz do lugar como duas joias.
A beleza aguda e preciosa de June comoveu-o. Ele escondeu o rosto naqueles seios e chorou. Lágrimas e saliva misturaram-se à pele de June enquanto M. despiu-a de maneira vacilante, quase emocionada, sem saber que o fazia pela última vez.
Tinha vindo da linhagem das sereias de Atlantis, a bela June, e a sua altivez, a sua fome e a sua angústia eram demais para o nosso jovem rapaz. Um belo exemplar masculino certamente, posso assegurar-lhes, pois o conheci intimamente nos seus últimos dias, e o conheci como poucos o conheceram. Mas M. não tinha a dureza, a agudez necessária para cravar a sua âncora nas escarpadas e furiosas praias rochosas de June.
Enquanto gastavam-se naquela velha esteira, a seta do destino escolheu o seu alvo. Todos nós sabemos que o destino tem boa pontaria: pode dar as suas voltas, descrever elipses, dar-se ao luxo de estender o caminho. Mas, de repente: zupt!, direto no miolo.
Não muito longe dali, outro homem estava com outra mulher. Mas não pensava nela, na esposa cujos cabelos loiros roçavam-lhe o peito; não, pensava em June... Pensava no seu belo corpo ainda não completamente desabrochado, nos seus quadris estreitos, nas pernas esguias, na cintilância dos sorrisos cheios de promessas. Pensava em June, assim como June pensava nele.
Quando o fim chegou para ambos, creio que a coisa realmente sucedeu: June, abraçada a M., só conseguia pensar no outro. E o outro, bem, ele só precisava esperar. Digo-lhes: não esperou muito.
Posso parecer um tanto meloso, mas acho que a ocasião me dá o direito. Narrar uma cena de sexo não é tarefa fácil, e começo a me arrepender dessa empreitada. Tudo porque, um dia, a minha campainha tocou. Tudo porque, muito antes, tive um amigo catalão de quem eu realmente gostava, e a quem admirava como admirei muito poucos. Ademais, quem nesta vida não tem o seu telhado de vidro?
Mas voltemos...
Já naquela noite, sem nunca ter provado da boca do estranho, June decidiu-se por ele. Era a sua próxima conquista, o seu caminho, a sua passagem de ida.
Muito mais tarde, quando M. caiu no sono ao seu lado, June acarinhou-lhe a fronte. Seus dedos de nuvem correram pelo rosto de M. Queria-o como a um velho brinquedo que a gente guarda no armário com pena de doá-lo a outrem. Ele tinha sido bom para com ela, e tinham se divertido bastante. Mas June era uma coisa oca, sem fundo, e já necessitava de mais.
June olhou M. longamente e, ajeitando uma mecha de cabelo castanho que teimava em lhe cair sobre a testa, sussurrou:
— Eu pronuncio teu nome nesta noite escura, e teu nome me soa mais distante do que nunca.
Era um trecho do poema de García Lorca que ela não chegara a declamar no sarau.
E também era uma despedida — e eu posso imaginá-la, ah, por Deus!, eu posso vê-la tão claramente como se estivesse lá: despenteada e nua, sob a luz da madrugada... June tinha algo de divino, um reflexo de outro mundo, e a pele perdia-se na cintilação das barbatanas prateadas que lhe cobriam parte do ventre, descendo-lhe, como uma antiga cota de malha, pelos quadris estreitos.
Sobre a esteira, M. dormia um sono sem sonhos, sem imaginar nem de longe que todas as coisas já estavam decididas e que June, se é que algum dia tinha sido, já não era mais sua.
E os astros não se moveram no céu quando June finalmente se ergueu, vestiu sua roupa e saiu do armazém. Ela ganhou a noite e sumiu pelas vielas do porto enquanto a brisa do mar brincava alegremente com seus belos cabelos escuros.
Acho que foi no dia seguinte que June bateu à porta do outro. Aliás, agora que entra na nossa história, convém que o sujeitinho receba um nome afinal de contas. Nem que seja para mera orientação.
O fato é que o nosso don juan se chamava Sebastian Amis. Foi mesmo M. quem me contou isso, entre outras tantas coisas que me disse nas suas sucessivas confissões emocionadas.
Mas, convenhamos, Sebastian Amis é um belo nome para um personagem literário. Macio feito manteiga. Um bom nome para um triângulo amoroso. Sebastian... Um nome para ser esfregado, provado, saboreado com gula.
Bem, foi ele mesmo quem abriu a porta do sobrado. Era manhã, não passava das 10 horas. June podia ser bastante audaciosa quando queria; aliás, audácia era, talvez, a sua mais admirável qualidade.
Evidentemente, ela nunca estivera na casa de Sebastian, e sequer conhecia-o. Mas em Neptuno era fácil descobrir o paradeiro de qualquer um, e June era amiga da senhoria que alugava aqueles sobrados durante os meses de verão. Então, lá estava ela, com seu vertiginoso sorriso, trajando um pequeno vestido vermelho, suficientemente curto para esconder a roupa de baixo, pés descalços, os cabelos trançados caindo-lhe pelo ombro direito.
Sebastian abriu a porta ainda de robe. Acordavam tarde, e ainda não se preparara para ir à praia. Ao vê-la ali, entendeu tudo. E sorriu, apoiado no batente da porta, ouvindo atrás de si o ruído do chuveiro que vinha do andar superior. Calculou que tinha uns cinco minutos até que a mulher saísse do banho e resolveu jogar o jogo.
À sua frente, June luzia na manhã de cristal, completamente à vontade, parada no umbral da porta de um desconhecido, oferecendo-se como um caixeiro-viajante que abre alegremente sua mala de mercadorias.
Sebastian olhou-a de alto a baixo e, sorrindo ainda, disse:
— Creio que já nos conhecemos, senhorita.
June riu. E inclinando o belo rostinho de lado, respondeu docemente:
— Você me olha todos os dias, achei mais prático vir aqui e me apresentar. Eu me chamo June.
E estendeu a mãozinha cor de canela, que Sebastian tomou entre as suas, beijando-a de leve.
Sim, June era boa no ataque! Ela era boa como um desses pontas de lança que pegam a bola no campo adversário, vão driblando em zigue-zague, descartando um por um os jogadores adversários, e enfiam a bola no gol como quem guarda seus sapatos numa caixa.
Nesse momento, a vizinha do sobrado ao lado saiu com o lixo, para depositá-lo na lixeira coletiva que ficava no fundo do jardim, e Sebastian afligiu-se um pouco, porque ela e a mulher conversavam, às vezes, na praia. Seu sorriso anuviou-se, mas June não estava nem aí. Como eu disse antes, June era um bichinho corajoso.
— Posso entrar, Sebastian? — ela perguntou, sorrindo ainda.
June sabia o nome também. Nome e endereço, serviço completo. Mas Sebastian não gostou muito daquilo...
Quando a vizinha estava ocupada com suas sacolas em torno da lixeira, ele estendeu o braço e tocou com carinho o rosto de June. Ela sorriu para ele, mas então Sebastian segurou-lhe uma mecha de cabelos à altura da nuca e puxou-os com força, imobilizando a cabeça de June entre seus dedos.
Os olhos da menina se arregalaram um instante; mas ela gostava de jogar e logo abriu um sorrisinho provocativo. Se Sebastian queria daquele jeito, as coisas seriam daquele jeito.
Ele disse então:
— Aqui não. Minha mulher está lá em cima.
June levou sua própria mão até a nuca, e delicadamente afastou a mão de Sebastian. Os dois sorriram um para o outro, e June quis saber:
— Onde, então?
O chuveiro lá em cima silenciou. Sebastian imaginou a esposa secando-se com a toalha, depois o creme, a roupa de praia, a escova nos cabelos. Ela estaria ocupada lá por uns bons minutos; mas, de qualquer modo, ele puxou a porta um pouco atrás de si, para abafar a conversa com June. A mulher poderia ouvir alguma coisa e descer até o hall.
Ele conhecia pouco a praia, mas o suficiente para dizer:
— Atrás do parque Goli, perto das cavalariças abandonadas. Você pode ir até lá no fim do dia?
E June respondeu sorrindo:
— Vou de bicicleta.
Acho que as coisas aconteceram mais ou menos assim. June contou tudo a M. quando, para atazaná-lo ainda mais, resolveu transformar o pobre rapaz enamorado em confidente do seu novo relacionamento.
Ora, cá entre nós, a permanência de uma paixão é coisa quase impossível. Como o fogo e a cinza. Todos nós sabemos perfeitamente bem disso. Mas June foi rápido demais com M. Ela era assim, vertiginosa. A maioria das pessoas que eu conheço sofreria um belo baque. Depois viria a fossa, uma fossa negra e profunda como a noite.
E depois, por fim, demorando mais ou demorando menos, mas chegando sempre, o esquecimento. A quase indolor memória de um amor acabado. Com M. não foi assim. Não me perguntem por quê, mas ele preferiu uma via de mão rápida. Uma única vez na vida, resolveu agir como a própria June e, em vez de apagá-la da sua alma, processo lento e doloroso que não se sentia preparado para enfrentar, apelou para as vias de fato. Era um romântico destrambelhado, e a coisa deu no que deu.
Mas, onde eu estava mesmo?
Bem, tratos foram firmados, e um vidro de hidratante corporal voltou para a prateleira no andar superior do sobrado que Sebastian Amis e a esposa haviam alugado.
Quando June partiu, bamboleando alegremente pela rua afora, e a esposa descia, fresca e perfumada do seu banho matinal, Sebastian Amis não pôde mais parar de pensar na rapariga. O dia inteiro esteve longe, respondendo à mulher por monossílabos desatentos, contando os minutos para correr até o parque Goli e embrenhar-se nas cavalariças abandonadas atrás de June, como um gato caçando o seu rato.
O resto... Bem, o resto é fácil imaginar.
E poupem-me da espinhosa tarefa de narrar aqui outra cena de sexo, ou ao menos de insinuá-la. Ainda não cheguei lá — como escritor, quero dizer. Talvez eu devesse ler um pouco de Henry Miller antes de voltar à carga, mas o fato é que não há tempo.
Estou à beira de uma explosão, preciso contar tudo. Considerem isso, então, uma confissão literária e não me julguem, ou melhor: por favor, não julguem as minhas opções narrativas, as minhas descrições equivocadas, o meu excesso de figuras de linguagem. Afinal, de um jeito bastante atabalhoado, isso deveria ser uma história de amor.
8
O assassinato de June recebeu grande cobertura da imprensa. Uma morte tão prematura, dois jovens bonitos e de boa classe social; enfim, os ingredientes perfeitos para um pouquinho de vampirismo jornalístico para as massas.
No encalço desses acontecimentos, Joaquim Alzamora veio dar por aqui. Exatamente como o filho fizera alguns meses antes, Alzamora bateu à minha porta num fim de tarde, sem aviso. Evidentemente, em se tratando dele, eu não esperaria um telefonema prévio. Ele não é esse tipo de pessoa que planeja seus dias numa agenda, ou que leva em alta conta os manuais de relacionamento social.
Abri a porta do meu escritório, e lá estava ele. Parado no sombrio hall, usando um blazer de lã inglesa de corte impecável, alto, mais magro do que eu me recordava, os olhos fundos, as mãos crispadas. Sorriu para mim e, por um instante fugidio, o seu sorriso teve o mesmo brilho daquelas antigas noites em que ele cantava os esquecidos sucessos de Orlando Silva.
— Então, meu caro, estou aqui — disse ele com sua voz intensa.
Falava baixo, mas suas palavras ecoaram no hall vazio e silencioso. Grandiloquente, ele era assim até mesmo quando não queria.
Tinha envelhecido, mas ainda era um belo homem, e me foi impossível definir-lhe a idade, parado ali, olhando para mim, com um ar levemente confuso. Então, um volume chamou-me a atenção e olhei para o chão. A mala de Alzamora descansava ao seu lado, como um desses cachorros que guiam os cegos pelas grandes avenidas, e eu disse:
— Você veio direto do aeroporto!
O meu espanto fê-lo rir. Então Alzamora deu de ombros, pegou a mala e respondeu:
— Eu não teria condições de entrar num hotel e registrar-me como um turista qualquer... — Olhou-me no fundo dos olhos. — Não sem antes falar com você.
Eu estava um pouco atrapalhado, devo dizer. Envergonhado pela falta de jeito, abri a porta e convidei-o a entrar.
— Entre, sente-se, vamos falar um pouco — disse eu. E então, já na minha sala, com Alzamora como um gigante no meu encalço, consegui ser sincero pela primeira vez: — Achei que você viria antes... Para o enterro, quero dizer. — Olhamo-nos, e completei: — Ou ainda antes.
— Antes que ele morresse — disse Alzamora, jogando o corpo num sofá.
Seu cansaço parecia infinito como o do velho Atlas. Ele derramou sobre mim um olhar esmagado de dor, e eu senti meu estômago se contorcer em agonia. De fato, preciso dizer-lhes que eu sempre temera esse dia, esse momento, essa tristeza.
Sentei-me ao lado dele, e ficamos ambos em silêncio por um bom tempo. A tarde caía lá fora, e os ruídos da rua subiam até nós, abafados pelos vidros, comprovando, de maneira curiosa, que a nossa extrema angústia não causava sequer um único arranhão no mundo que fervilhava lá fora.
— Você quer um uísque? — perguntei-lhe finalmente.
Não sei por que ofereci um uísque, pois Joaquim Alzamora sempre fora um bebedor de vinhos, mas a ocasião, parecia-me, não combinava absolutamente com rolhas e o tilintar de taças de cristal.
— Quero sim — respondeu ele. — Duplo, com três pedras de gelo.
Ah, o mesmo homem meticuloso de sempre. Suas quedas eram rápidas. Mas, depois que servi o uísque — dois, um para ele e outro para mim —, quando lhe alcancei o copo, vi que Alzamora tornara a cair, que seus ombros pesavam, e as rugas ao redor da boca se intensificavam de repente.
Ele provou o uísque — era bom, pois sou muito criterioso com essas coisas —, suspirou fundo e, acalentado pelo álcool que lhe descia até o estômago, desatou a falar:
— No começo, eu me mantive admiravelmente calmo. Isso foi quando Elisa me telefonou. Acho que você já tinha estado com M. muitas vezes então. Entenda, Elisa simplesmente não me contou a coisa no começo...
Ele tornou a beber do seu copo, correu os olhos pela minha sala distraidamente, sem fazer qualquer análise do lugar, sem olhá-la como um arquiteto costuma olhar um ambiente, e sim como um homem meio perdido procurando alguma referência pessoal.
— Acho que Elisa não teve coragem. A culpa, implícita, seria dela. Afinal, eles viviam juntos, e tudo aconteceu sob a barra da sua saia...
— Elisa estava vivendo uma tremenda depressão — disse eu. — Foi M. quem me contou.
Joaquim Alzamora sorriu para mim como quem sorria para uma criança. Era estranho, realmente estranho, vê-lo tão acabrunhado. Mas não digo que era imprevisível, claro, levando-se em conta tudo o que acontecera.
— A depressão de Elisa piorou muito depois... — ele titubeou — ... bem, depois do assassinato de June. Mas o fato é que ela não me contou nada no começo. Talvez achasse que as coisas se resolveriam sozinhas, como por milagre. M. entregou-se, ficou cinco dias preso, depois veio o habeas corpus... Enfim, meu caro Key, você sabe de tudo isso muito melhor do que eu. O que quero dizer é que Elisa só me ligou quando a coisa começou a vazar na imprensa.
— E ninguém mais lhe disse nada?
Ele me olhou significativamente.
— Nem ao menos você.
Coloquem-se no meu lugar, vocês aí que me leem. Não, aquele dia não foi fácil para ninguém...
Claro, esclareço que procurei Joaquim Alzamora a certa altura, quando já estava me preparando para defender o seu filho no tribunal, e, evidentemente, necessitava dele por perto. Mas eu era o advogado, não o amigo. Esse era o meu papel, e agarrei-me a ele com unhas e dentes como uma boa desculpa para não derrubar Alzamora do seu trono com a notícia de que seu filho único tinha assassinado uma menina de 15 anos com a qual tivera um namorico de verão.
Assim, fitei-o nos olhos e respondi:
— Isso não me cabia. Como amigo, talvez... mas não como advogado. E M. me procurou, veio até mim, e até hoje não sei bem por quê. Mas veio, os papéis mudaram, e fiz o melhor que pude como seu advogado. Creia-me, eu realmente gostei dele.
Alzamora tomou um gole do seu copo e disse:
— Muito mais do que eu certamente. Arrisco-me a dizer que você foi um bom amigo para ele, enquanto eu fui o exemplo a ser rechaçado. Claro, a culpa foi, em boa parte, minha... Mas hoje posso dizer que M. foi a conjunção do meu desejo violento de viver a vida com a autocomiseração angustiante de Elisa. Talvez, comigo por perto, talvez ele tivesse partido para a próxima, para outra e outra e outra ainda... Afinal, os jovens vivem na expectativa do futuro, não é mesmo? — Ele suspirou, sorrindo tristemente. — Mas logo o meu filho tinha que se agarrar ao presente como um louco, como se não houvesse nada depois da próxima esquina...
Lembrei-me de M. ali naquela sala, desfiando seu amor ensandecido.
— Ele estava cego de paixão. A menina levou-o até o limite, veja bem... E ele era um cara romântico.
Alzamora riu baixinho. Depois ficou um longo tempo quieto, olhando o fundo do copo, como uma dessas videntes que procuram o futuro num cristal.
Por fim, sorriu meio acabrunhado e disse:
— E eu que pensei, durante um bom tempo, que o rapaz, bem... Que M. não gostava muito de mulheres.
Eu ri, ele riu também. Alguma coisa do gelo entre nós se quebrou.
Digerido o assassinato, ainda faltava a morte de M. para enfrentarmos. Assim, como um homem prevenido, tornei a encher o meu copo e o de Joaquim.
Bebemos, ambos, num trago. Lá fora já era noite. A lua boiava num canto da minha janela. Meu estômago fervia por causa do uísque, e Alzamora pôs-se de pé, de repente, como que movido por alguma mola invisível.
— Vamos dar uma volta — convidou ele.
Achei que era um convite tremendamente oportuno. Eu precisava de ar, precisava de alguma coisa da rua.
Saímos então.
Andávamos devagar pela calçada estreita, e pessoas passavam por nós. O parque, ao fundo, parecia nos observar em silêncio, como uma babá que olha as suas crianças de longe, pronta para interferir diante de qualquer perigo mas sem roubar-lhes a autonomia.
Eu conhecia as ruas muito bem para andar por elas sem pensar em nada lógico. Eu só sentia a presença de Joaquim Alzamora ao meu lado, a energia que emanava dele, e a angústia também. Tudo nele latejava como uma ferida aberta. Andamos muito tempo em silêncio, cruzamos ruas e vielas; o ruído, a pressa, a alegria, as liquidações de inverno nas vitrines, o cinzento rio correndo para o mar, nada disso sequer nos tocou.
Minha mente vazia podia seguir, como Teseu no labirinto, o fio invisível das maquinações de Alzamora. Sua cabeça ia e vinha em considerações sobre o filho e sobre o destino que M. escolhera para si.
Sim, pois não havia dúvida de que M. escolhera dar aqueles passos, um após o outro, e também escolhera o ponto final da sua própria história. Uma faca, não a mesma que usara em June. Mas o mesmo caminho — tudo muito cerebral, muito correto e muito justo na lógica da sua loucura agoniosa. Alzamora entendia, tarde demais, que seu único filho fizera um pacto com a morte.
E eu, caminhando ao lado dele pela cidade fervilhante, um Sancho Pança a seguir seu Dom Quixote derrotado, com minha cabeça oca e meu peito apertado, pensava num poema. Um poema de Borges, porque essa história toda teima em evocar Borges em mim. E o verso, bem, o verso é mais ou menos assim: “Tua vida fez um pacto com a morte, toda a felicidade, por existir, já te é adversa.”
Repeti esse verso por um longo tempo, repeti-o tal um mantra, pisando as calçadas e as avenidas, na noite fria e iluminada do fim daquele inverno.
A um dado momento, quando entramos numa pequena rua cheia de bares, e os risos das pessoas chegaram até nós em ondas, os risos e a alegria vicejante das muitas mesinhas na calçada, Joaquim Alzamora parou subitamente e me disse:
— Tenho pensado muito no meu filho nos últimos dias... Um filho morto é a negação da nossa própria existência, Key. E, no entanto, por mais que eu o invoque, a lembrança dele vai se esmorecendo dentro de mim. Vai se apagando. Como um desenho molhado pela chuva.
Eu não sabia o que dizer, mas não foi preciso falar nada. Vejam bem, eu sou inepto para essas coisas. Mas, por outro lado, se tudo sempre fosse dito, talvez não se escrevessem tantos livros...
Eu, ao menos, estou aqui para isso, para dizer o que eu não disse na hora certa. Para me arrepender de coisas que eu fiz e de coisas que eu não fiz. Para olhar para trás e fazer um balanço do que eu vi e do que eu ouvi.
Mas Joaquim Alzamora não olhou para trás naquela noite. Era como se não suportasse a própria confissão, era como se fugisse dela desesperadamente. Tinha esquecido o filho quando ele estava vivo, e agora esquecia-o uma outra vez, depois de morto. E, no entanto, confessava-se a mim...
Alzamora de repente seguiu pela rua, num passo rápido, fugindo do bulício dos bares e dos cafés, procurando outra vez o vago silêncio coletivo das calçadas repletas de transeuntes apressados.
Andamos assim por mais de uma hora. Dobrando aqui e seguindo por ali, sem dizer palavra, conduzi Alzamora de volta à minha casa, embora eu mesmo só o percebesse quando começamos a atravessar o parque. Alzamora parecia um cão sem dono, altivo, mas perdido e faminto. Como outrora eu cuidara do seu filho (não o bastante, na verdade), agora deveria cuidar dele. Assim, no elevador, subindo para o meu andar, eu lhe disse:
— Você não vai para um hotel, Joaquim. Tenho uma cama extra. Você fica comigo hoje... Ou, ainda, pode usar o meu quarto, e eu durmo no sofá.
Alzamora sorriu, sob a luz amarelada do elevador antigo, que tremia poço acima como um velho reumático e ranzinza.
— Acho perfeitamente possível ir para um hotel... — começou ele, sem muita gana, na sua desusada elegância.
E eu o cortei:
— Oh, não é nada demais. Costumo fazer isso muitas vezes, quando fico assistindo a filmes até tarde. Até gosto de dormir no sofá; é um hábito estranho que eu cultivo. Como eu disse, você dorme no meu quarto.
Quando o elevador parou, Alzamora tocou mansamente o meu ombro. O hall estava escuro, a célula fotoelétrica que fazia acionar a luz estragara de novo e o zelador não tomara providências a respeito.
— Obrigado — disse Alzamora muito devagar. Sua voz era quente e pesada como o ar que dividíamos ali. — Obrigado, Key — repetiu ele.
E o barulho da chave na fechadura se interpôs entre nós, discreto e amigável, antes que ele ousasse dizer mais alguma coisa. Não sei se Alzamora me agradecia a cama, ou a defesa do filho diante das autoridades e até mesmo da imprensa.
Ah, a realidade... A dureza do metal na sua minúscula caverna, a chave na sua curta dança, e o clique que abriria, para nós dois, a minha própria caverna de macho solitário. Em algum lugar, do outro lado do planeta, Joaquim Alzamora também tinha uma casa, uma cama, um bar, uma biblioteca e uma chave que lhe abria acesso a tudo isso.
Ocorreu-me perguntar-lhe então:
— Diga-me, Alzamora, você ainda é casado?
Quando entramos na sala e acendi a luz, ele sorriu para mim.
— Ainda — respondeu. — Eu, finalmente, encontrei o meu presente.
E então compreendi que tudo haveria de ficar bem. Que toda aquela tristeza, todo aquele horror, bem, nada disso significaria a ruína de Joaquim Alzamora. Ele caíra de joelhos, mas não rolara a montanha. Essa era a diferença entre ele e o filho.
Alzamora partiu no dia seguinte. Não havia mesmo muito mais o que fazer aqui, e parece que Elisa, depois de um verdadeiro eclipse emocional, tinha ido para uma clínica nas montanhas. Não que um deles pudesse, efetivamente, consolar o outro nesta vida. Tudo o que os unira agora os separava, até mesmo o destino do filho único. Quanto aos sogros, de fato Alzamora não tinha muito contato com eles. Alguns e-mails com o Sr. Lupec, nada mais que isso.
— Não poderei ajudá-los a colar os cacos — disse-me Alzamora, empunhando sua mala, na garagem do meu prédio.
Era uma tardezinha lúgubre, chovera durante toda a manhã, e a água fazia poças na garagem. Pulávamos as poças com aquela falta de jeito típica dos homens adultos numa situação assim tão infantil; Alzamora carregava a sua mala praticamente intocada e parecia um prisioneiro em fuga. Havia, outra vez, angústia nos seus olhos.
O que Joaquim Alzamora não me disse, mas que descobri depois, casualmente, foi que ele tinha procurado o Sr. Lupec. Telefonara-lhe pela manhã, quando eu tinha saído para resolver algumas questões pessoais, informando ao sogro que tinha passagem comprada num voo no dia seguinte, e que iria estar com ele e com Ilma antes de partir.
Mas Heitor Lupec, aquele lorde, aquela figura digna de um romance de Henry James, anunciou-lhe, peremptoriamente, que não queria vê-lo em Neptuno. Que ele e a sua esposa já tinham vivido coisas demais, tinham perdido coisas demais e que não estavam dispostos a um encontro póstumo com Joaquim Alzamora. Póstumo — foi essa a palavra usada por Heitor Lupec, e foi ele mesmo quem me contou esse pequeno incidente, na carta que recebi alguns dias depois do retorno de Alzamora para a Europa.
“Entenda-me, caro senhor Grey, há mazelas e mazelas nesta vida, poucas são evitáveis. Mas um reencontro com meu antigo genro, isso seria demais. Recentemente apenas foi que Ilma apresentou alguma melhora, e às vezes sai do quarto e passa algumas horas na sala; dia desses, depois de semanas, aventurou-se até o jardim. Não... Evidentemente, Joaquim Alzamora não é o responsável por toda a torpeza moral que desabou sobre nós, mas creio que o seu desinteresse por M. contribuiu bastante para que tudo chegasse até onde chegou. Com a minha filha, veja, é diferente: eu tenho certas obrigações para com ela...”
Bem, foi isso mesmo que ele me escreveu. Imagino que Elisa também tenha levado o seu quinhão, mas ela costumava esconder-se na hora H. Se ainda aceitassem senhoras arrependidas nos conventos como antigamente, creio que Elisa teria se recolhido a um deles logo no começo dessa história toda. Preferiu agir como se usa hoje, e internou-se numa clínica. Deve estar fazendo aula de hidroginástica numa hora dessas, ou andando por corredores assépticos, brancos, com horrorosos quadros de flores e paisagens insossas, enfiada num roupão felpudo, anestesiada por um Valium ou coisa parecida. Não, ela não daria a cara para bater...
Estivemos juntos, Elisa e eu, algumas vezes. Isso aconteceu depois que M. me procurou, evidentemente. Era então uma mulher bonita, que sorria apenas o suficiente para não provocar rugas desnecessárias, se bem que havia mesmo poucos motivos para sorrir naqueles dias.
Pareceu-me muito nervosa, o que também era tolerável no caso, mas o que mais me impacientou foi a sua falta de energia. Não tinha muita raiva do filho, ou sequer vontade de defendê-lo. Dizia sempre, repetidamente:
— O que você achar melhor, Key... O que você achar melhor.
Não tinha opinião, não entendia como tudo acontecera daquele jeito e não lamentava coisa alguma. Ou melhor, lamentava por ela. Pelo que os outros diriam dela e do filho. Era um percalço, um percalço terrível, que ela não tinha energia para vencer. Nascera sem gana de lutar, ou perdera-a, de qualquer modo. Lembro-me de Elisa há alguns anos, e tinha viço. Seus olhos brilhavam sempre que ela se punha a fitar Alzamora. Como um satélite apartado do seu planeta, apagara-se com o abandono de Alzamora, e, creio, foi quase um alívio para ela quando tudo terminou e pôde, por fim, recolher-se à tal clínica.
Quanto a Joaquim Alzamora, tinha o hábito de dar a cara para bater, mas não gostava de exibir seus hematomas. Enquanto estive na rua naquela manhã chuvosa, ele manobrou com seu agente de viagens de modo a trocar sua passagem aérea. Creio que vivia na Suécia então.
Quando voltei para casa, molhado e com uma pontinha de mau humor, ele esperava-me, limpo e silencioso, os cabelos ainda úmidos do banho.
Assim que abri a porta, ele me disse:
— Tive um contratempo, Key. Volto hoje. Esperava-o para uma despedida... — Sorriu, batendo as mãos nas próprias coxas, levemente constrangido. — Eu precisava chamar um táxi.
— Ora! — retruquei, pego de surpresa. — Levo você aonde quiser. Aconteceu alguma coisa grave?
Ele olhou-me de soslaio enquanto vestia uma gabardine azul-escura e disse:
— Tudo, Key. Tudo já aconteceu... Resta-me apenas ir embora.
Fiquei parado na sala por um minuto. Aquilo era, sem dúvida, uma despedida. Estranho como sabemos, raras vezes nesta vida, quando chegamos ao fim de alguma coisa.
Eu já não veria mais Alzamora — ou melhor, já não o verei. Seus olhos me disseram isso naquela manhã. Com a morte do filho, muitas coisas ficavam para trás. Coisas irreconciliáveis. Talvez eu seja uma delas, não sei ao certo ainda. Talvez eu apenas esteja inserido nas circunstâncias e deva pagar a minha parte.
Assim, partimos, Alzamora e eu, naquela tardezinha triste e pesada de fim de inverno. Não falamos muito, e o trajeto foi longo. Nossos papos mais demorados tinham acontecido sempre à sombra de algumas garrafas de vinho. Ademais, creio ser essa uma das melhores características masculinas, não se esconder atrás de palavras banais.
Ou não. Não sei mais nada de fato.
Afinal, estou aqui agora, escrevendo estas folhas, uma a uma, pacientemente. Eu, que nunca tinha passado para o outro lado de um livro. Eu, proferindo pequenas lições de moral, o homem que minha ex-mulher, Anna, acha o mais amoral deste mundo. Pois bem, estou aqui, docilmente. Enfileirando palavras há semanas. Como quem ergue um muro de tijolos imaginários.
9
June e Sebastian pareciam feitos um para o outro. O primeiro encontro no parque Goli abriu caminho para uma série de outros. Loucos, furtivos, frenéticos encontros.
Os dois eram cada vez mais ousados, e a maior parte da graça parecia advir disso, da ousadia. Encontravam-se no quintal da casa que Sebastian dividia com a esposa. Certa tarde, enquanto a pobre moça fazia a sesta, tendo a boca ainda úmida dos beijos do marido, June e Sebastian transaram sob a parreira do quintal, o sol filtrando-se através das folhas, das uvas maduras e das gavinhas, enchendo a pele de June de estranhos arabescos dourados.
June tinha certeza de que encontrara o amor da sua vida. Sebastian Amis era um homem bonito e possuía algum senso de humor, mas tinha um trabalho ínfimo numa opaca corretora de seguros — sobre isso, porém, ele não costumava falar com June. Aliás, ambos falavam muito pouco. Mal se viam, a atração física fazia das suas, e bocas se colavam, e braços dançavam a velha dança, e dedos e unhas, e peles... Enfim, vocês sabem.
Se June era um vaso cheio de desejo, nesse período, mais do que nunca, ela entornava seu conteúdo pelas ruas. Cheia até a borda, absolutamente. Por isso, creio, a estrada não lhe seria muito longa... Foi M., mas poderia ter sido qualquer outro, numa curva do caminho. June não era muito comedida, e atrevo-me a dizer que nunca aprenderia o comedimento.
Quando estive em Neptuno, descobri que falavam, às escondidas, que o pai de June tinha sido um atorzinho mambembe, louco e sedutor, que acabara com um tiro entre as costelas, jogado num matagal, depois de uma apresentação num teatro de saltimbancos. Mas, vejam, isso não passa de mera especulação.
O que é certo, o que é absolutamente certo, é que June gostava muito da excitação de estar com Sebastian sob as janelas do sobrado onde a esposa desavisada dormia seu soninho com algodão embebido em camomila sobre os olhos inocentes.
Às vezes, June gritava alto. Gritava quase de propósito. Sebastian tapava-lhe a boca com ira. Era desses homens que sabem ser doces e violentos. Desses homens que certo tipo de mulheres simplesmente adoram. Quando ele tapava sua boa, June o mordia. A violência retribuída deixava Sebastian meio louco de desejo, e lá se iam os dois novamente, pelo despenhadeiro daquela aguda paixão, enquanto, lá em cima, a esposinha de Sebastian não desconfiava de nada, e os vizinhos já viravam os olhos quando June subia calmamente a rua, bamboleando os quadris, sob o forte sol do começo da tarde, na hora em que — ela sabia — a mulher de Sebastian se recolhia para a sesta.
Era um joguinho excitante para June...
Eu sei muito bem disso, meus caros. Mesmo sem nunca tê-la visto, eu a conhecia. Conhecia como June funcionava, as suas engrenagens internas, as suas maquinações e desejos.
Vocês devem ter depreendido que eu já tive uma June na minha vida. Bem, tive mesmo. Por causa desse encontro, dessa faísca, desse tropeço, é que Miguel vem sendo criado longe de mim. Mas cada homem tem a sua sina, e azar daquele que tem o sangue fraco, como dizia a minha avó.
Quanto à mocinha em questão, ela gostava de provocações, gostava de perigos, e não tinha medo de apostar as suas fichas. Então, logo, logo June começou a ambicionar o seu próprio quinhão de perigo. E pareceu-lhe óbvio voltar-se para o jovem M.
O belo rapazinho ciumento, completamente desinteressante para ela em comparação ao vivido Sebastian, tinha sido deixado de lado havia alguns dias. June já não lhe atendia os telefonemas, o que aliviava a tola vovó Morel. Também abandonara as horas pendurada à janela, porque tinha que estar no quintal de Sebastian. Saía às escondidas, quando sua própria avó também ia dormir a sesta, e voltava, exausta e feliz, antes que a velha acordasse às 4 horas da tarde. Ia à praia, mas numa outra faixa de areia, mais ao norte, e lá tomava os seus longos banhos noturnos, às vezes em companhia do próprio Sebastian.
M. estava mal nesse período. O avô Lupec cogitava mandá-lo de volta para a casa; mas, de fato, o neto não parava em casa o suficiente para que o velho cavalheiro pudesse levantar o assunto com ele de forma apropriada.
O que M. fazia era vagar pela cidade. Andava à toa, em busca de June. Sabia que ela o rechaçara sem muitas explicações, e seu orgulho, difuso porém considerável, inibia-o de provocar uma cena. Assim, o jovem andava de lá para cá, pela praia, até o porto, dando voltas no parque Goli, varando os caminhos do bosque — havia um bosque nas vizinhanças de Neptuno onde as pessoas costumavam fazer piqueniques —, trilhando as ruazinhas animadas do centro da cidade como um caminhante em peregrinação.
Nunca via June. Aliás, pelo que me contou, viu-a, certa vez, desaparecendo atrás de uma duna acompanhada de um sujeito. M. não era tolo, sabia muito bem tratar-se de Sebastian, o cara da praia. Não os seguiu, mas ficou ali, uma hora inteira sob o sol inclemente, esperando que voltassem. Não voltaram. Nessa época, costumavam fugir para o meio das dunas e, depois, bem mais tarde, banhavam-se na lagoa que havia por ali.
M. estava cada vez mais desesperado. Tinha pesadelos à noite. Sonhava com June e sentia o gosto de June na comida. Ilma preocupava-se com a visível inquietude do neto, mas Heitor Lupec acalmava-a, dizendo:
— Fique tranquila, minha querida. Como escreveu mesmo Shakespeare? Um fogo devora outro fogo. June será esquecida... A juventude é assim, Ilma, nós é que já não nos recordamos disso.
Talvez Heitor Lupec tenha citado o Shakespeare errado para o caso... Talvez apenas o trecho errado de Romeu e Julieta, devendo procurar mais para o fim da peça uma frasezinha apropriada. Mas, afinal, como o pobre Lupec poderia mesmo saber?
Os avós esperavam que a coisa toda terminasse logo, enquanto M. vagava por Neptuno tão perdido como um cristão em Meca. Certa tarde, na praia, ele encontrou o velho Bertuíno, que vinha de jogar a tarrafa. Balançava o balde vazio ao lado do corpo e, ao reconhecer M., sorriu-lhe e mostrou o fracasso da sua pescaria.
— Creio que a nossa sereia nos abandonou... Eu não estou pescando nada ultimamente. Não pego nada mais comprido do que o meu polegar — disse ele, mostrando as mãos de longos dedos magros, queimados de sol.
M. apenas olhou-o e não disse uma única palavra. O velho afastou-se então, muito calmamente, e seguiu carregando o seu balde vazio, a tarrafa pendurada no ombro. E o nosso jovem seguiu pela praia até o molhe, descendo o caminho de pedras até o cantinho de areia que, tempos atrás, June lhe apresentara.
Sua cabeça dava voltas como uma bailarina bêbada. Ele não sabia muito bem o que fazer, que atitude tomar. O mais lógico seria partir, voltar para a cidade e gastar os últimos dias de verão tentando esquecer June. Talvez estivesse em condições de retomar as aulas em março. Mas, de fato, não tinha coragem para isso. A faca invisível dava voltas no seu peito como se fosse uma espécie de parafuso ardente.
Assim, ele venceu todas as pedras, desviando das pontas, do limo, das armadilhas da descida, e sentou-se na areia. Lá, aliviado pela solidão, chorou por um tempo que lhe pareceu bastante longo.
Mas, no fim desse mesmo dia, aquela pequena coisinha egoísta foi procurar M. na casa dos Lupec.
Posso vê-la à porta, o blim-blom soando lá dentro, e ela a esperar sob a luz do alpendre florido, batendo os pezinhos no chão com aquela espécie de ansiedade que lhe era tão característica, e sobre a qual o jovem M. discorreu tão longamente. Enquanto isso, o barulho de louças e talheres que vinha através da janela entreaberta indicava que a família Lupec estava à mesa do jantar.
Mas June não se importava muito com essas coisas. Tinha um encontro no dia seguinte com Sebastian e queria fazer tudo direitinho. Então tocou a campainha novamente e esperou.
Foi Ilma quem abriu a porta. Num misto de alívio e agonia, a avó de M. convidou June a entrar. Talvez quisesse provar um pedaço de torta de morangos ou tomar uma xícara de chá. Mas June negou-se a dar atenção aos brios culinários de Ilma Lupec. Ela queria apenas falar com M. Falar com ele a sós.
Creio que aqui o ego do meu jovem amigo desmoronou por completo. Ele ainda estava subindo a encosta escarpada dos seus 19 anos, e June deveria ser rotulada como “proibida para menores de 21”, ou algo do gênero. Aquele jovem ingênuo não era páreo para ela, não era mesmo... Ao vê-la, ele esqueceu-se de tudo. Abandonou a mesa sem dizer sequer boa noite ao avô Lupec e saiu com ela pela rua, levitando de alegria como um ratinho encantado pela flauta de Hamelin. Era como se tivesse ganho na loteria, tendo jogado no mesmo número pela segunda vez. O seu estado de espírito era bastante confuso, vocês podem imaginar.
June estava doce e saudosa. Por Deus!, ela sabia fazer as coisas muito bem quando queria. Sem muitas voltas, fazendo uso dos seus atrativos, piscando aqueles enormes olhos azuis, ela desculpou-se, dizendo que Sebastian tinha sido uma tolice e que sentia muita falta de M.
Deve ter dito muitas coisas mais que aqui desimportam, o sentido de todas era amaciar o rapaz, pois June não sabia que M. permanecera quietinho no anzol enquanto ela atravessava outros oceanos mais bravios.
— Nunca mais? — perguntou M. ao fim do discurso de June.
Era uma perguntinha tola, eu sei. Mas as maiores tolices do mundo foram ditas por homens apaixonados.
— Nunca mais — June respondeu aos beijos. — Só eu e você agora. Só nós.
Assim June pagou o ingresso e entrou. Tinha a sua contribuição de segredo, de ciúme e de perigo. E foi rápida, como era do seu feitio.
Depois de voltar com M. até a praia, de juntos tomarem banho de mar, de tudo o que aconteceu nas dunas naquela noite entre os dois, June combinou que ambos se veriam no dia seguinte, às 11 horas da noite, naquele dente de praia secreto que ficava depois do molhe.
— O nosso lugar — disse ela, sorrindo. — Eu levo uma garrafa de vinho.
Pois justo no dia seguinte a esposa de Sebastian Amis teria que voltar à cidade para assinar um contrato ou coisa parecida. Era um compromisso inadiável, e ela ficaria a noite inteira longe de Neptuno. Eles poderiam ir e vir como bem entendessem, pois June esperava apenas que os avós fossem dormir para cair fora, pulando a janela do seu quarto que dava para o quintal.
M. não desconfiou de nada, estava contente e apaziguado o suficiente para aceitar a mudança de comportamento de June sem reclamar. Alguém, por acaso, reclamaria de um milagre? Bem, M. foi bastante crédulo, e creio que deve ter dormido feliz naquela noite.
Em casa, comportou-se outra vez com certa alegria, comeu, conversou e fez planos. Arriscou-se a dizer ao avô que tencionava trancar um semestre na universidade e ficar por ali, talvez como aluno ouvinte de alguma das cadeiras ministradas pelo próprio Sr. Lupec.
O bom Heitor Lupec não soube o que lhe dizer, e achou por bem deixar os dias correrem. O verão ainda tinha duas semanas pela frente, e ele não apostava dez dólares na dedicação de June. As pessoas falavam, e Heitor Lupec já tinha ouvido certas coisas sobre um tal Amis... Mas não era do seu feitio adiantar-se aos acontecimentos. E, quando M. lhe falou, o velho Lupec simplesmente respondeu:
— Podemos ajeitar as coisas no começo de março, caso você não mude de ideia, meu jovem. Até lá, aproveite as suas férias.
Não se tocou mais no assunto.
Mas, também, tudo aconteceu com bastante precipitação.
Perto das 11 horas, eufórico, com algumas rosas roubadas dos jardins com os quais cruzara pelo caminho, M. escalou e desceu o caminho das pedras. Engraçado como a gente vai ganhando habilidade em certas coisas... Mas, imagino, aquela foi a última visita do jovem à prainha dos seus encontros secretos.
Estava escuro, e somente a lua e as estrelas o guiavam. Não quis pedir aos avós uma lanterna, e o dinheiro que trouxera da cidade estava chegando ao fim (é necessário lembrar aqui que M. não trabalhava, nunca trabalhara na vida, e vivia do dinheiro que Alzamora lhe mandava da Europa). Ao menos quanto ao item “questões financeiras”, creio que não se podia culpar o pobre Alzamora de desleixo paterno...
Mas vamos lá.
Pedras afiadas, o mar sereno, uma bela lua crescente boiando no céu, um trecho escondido de praia. Esse era o estado de espírito do nosso jovem mosqueteiro.
E então, quando chegou lá embaixo, M. viu uma cena que não poderia jamais esquecer. Viu June, nua, deitada sobre uma toalha azul, e Sebastian sobre ela, ofegante. Viu a carne bronzeada de Sebastian luzir de suor na noite quieta, e ouviu o gemido de June, um gemido longo, vacilante, cheio de prazer.
Mais uma vez, a última, M. viu June transformar-se diante dos seus olhos. A cauda prateada rabaneou no ar por um instante, enquanto Sebastian se contorcia sobre ela, os olhos fechados, alheio ao pequeno milagre.
Depois, como num sonho, June voltou ao seu estado normal. A cauda desaparecera, e a sereia dos sonhos daquele jovem fabulador apaixonado voltava a ser a meninazinha maldita, que tinha um diabo por dentro. Aquela criaturinha de vertiginosa beleza e espírito traiçoeiro que, uma tarde, sem avisos, lhe roubara o coração...
Eram exatamente 11 horas da noite.
Num canto, semienterrada na areia, ele viu uma garrafa de vinho vazia. E June e Sebastian dançando aquela dança louca, louca, louca.
Posso supor que M. saiu de lá de maneira bastante abrupta...
Tinha os olhos cegos de raiva, a crueldade de June desabando sobre ele, mais pesada do que o mundo. Na subida íngreme, ele cortou a mão numa das pedras, e seu sangue pingou no chão ao longo de todo o caminho. Sangue e lágrimas, devo dizer, correndo o risco de parecer excessivamente dramático.
Mas o fato é que o jovem voltou para casa chorando. A claridade da noite iluminava-o como a um fantasma perdido, as lágrimas embaçavam-lhe o caminho. Sua mente era uma sucessão de ideias malucas, assombrosas, cheias de violência. Imagino que foi então que tramou tudo... O punhal que o avô guardava numa gaveta, um velho punhal de prata muito solene, feito para grandes tragédias. Um encontro com June, o último. Ah, sim, ele era um romancista nato!
E, enquanto corria, atravessando a noite, a mão aberta num corte profundo, M. desejava abandonar tudo aquilo, todo aquele grande pesadelo, toda a vergonha e todo o amor que pesavam dentro dele como um fardo impossível de ser carregado. Ele era um jovenzinho do século XIX, saibam bem. E, correndo pelas ruas de Neptuno naquela noite de verão, pensava em June. Queria voltar no tempo. Desejava vê-la pela primeira vez, sendo ainda a última. Desejava ter passado ao largo daquela descarga elétrica, daquela euforia, daquela doença.
Mas já era inútil.
Ele tinha certeza de que se embrenhara num caminho sem volta.
Algumas coisas aconteceram na casa dos Lupec logo depois. Embora M. tenha vagado por algum tempo pelas ruas de Neptuno, o cansaço obrigou-o a voltar para casa no começo da madrugada.
Quando entrou na cozinha, com a chave extra que tinha levado, fazendo o maior silêncio possível, ele deu de cara com Ilma, que tinha perdido o sono. Sentada à mesa, ela bebericava um copo de leite morno. Olharam-se na cozinha semi-iluminada. O jovem tinha toda aquela dor dentro dos olhos. Era uma dor aguda, visível, atroz, mas a boa Ilma notou-lhe somente a ferida menor, o sangue na mão, o dedo já inchado, pulsante.
— Pelo amor de Deus — disse Ilma, assustada. — Você andou tentando abrir uma lata com os dedos?
O rapaz não disse nada, apenas ficou olhando enquanto ela passava um chumaço de algodão na carne aberta, quase apreciando aquela dor aguda e funda como se fosse algum tipo de bálsamo para o outro mal que o corroía por dentro. Ilma limpou muito fundo o ferimento, e ele não disse sequer uma palavra, não retirou a mão nem um centímetro.
Aquilo deveria ter doído. O corte era profundo, e o sangue não coagulava. Ilma estava um pouco assustada, era muito fraca para essas coisas. Pareceu-lhe que deveria levar o neto para o hospital. Havia alguma coisa nele, naqueles olhos. Mas, no hospital, só poderia pedir que lhe curassem a mão, o resto... Bem, o resto era pedir demais.
Ilma Lupec subiu ao quarto e chamou o marido. Logo, Heitor estava lá embaixo, usando calça e camisa social como se não fossem 4 horas da manhã.
O velho Lupec tomou a mão de M. com muito cuidado e perguntou:
— Isso aqui tem a ver com June, não tem?
Sim, o elegante professor já estava começando a ficar preocupado. E ficou mais ainda quando o neto lhe respondeu, de forma alheada:
— Desde que eu a conheci, tudo sempre teve a ver com June.
O Sr. Lupec decidiu falar com a filha no dia seguinte. Talvez fosse necessário encurtar a estadia de M., antes que as coisas piorassem ainda mais. Não creio que o tenha feito, não a tempo, certamente, de evitar a tragédia que estava se avolumando em torno deles como um temporal quando as nuvens começam a se acumular no horizonte.
Naquela noite, na volta do hospital, depois que a casa silenciou, M. arrastou seu corpo para fora da cama e seguiu até o escritório de Heitor. Seu estado de espírito me é dificílimo de descrever. Um misto de fúria e de cansaço, de agonia e de premência. Tinha tomado dez pontos na mão direita, mas era canhoto, e só precisava de uma das mãos para dar cabo do seu plano.
Um plano louco, nascido em algum momento daquela noite. Ele agora segurava-se àquela ideia doida, segurava-se a ela como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira solto no oceano. A ideia sustentava-o e acalentava-o ao mesmo tempo. Ele pensava, meio zonzo por causa do efeito dos analgésicos: eu também sei causar espanto, eu também sei causar dor.
Ah, June...
Ah, pequena sereia de coração de pedra.
Tudo isso poderia ter sido evitado... Se Elisa fosse uma mulher um pouco mais forte, se Heitor Lupec fosse um homem um pouco menos elucubrativo, se Joaquim Alzamora fosse um pai mais presente. Bem, quanto a Ilma, não creio que a boa senhora pudesse ter ajudado de algum modo. E, claro, havia os avós de June. Dois zeros à esquerda, devo registrar aqui. Mas a vida é assim mesmo, não existem rascunhos. Talvez, por isso, eu tenha clara preferência pela ficção.
Mas recriemos aquela noite...
M. foi até o escritório do avô.
A casa estava extremamente silenciosa, uma luz dourada e pálida surgia das janelas, ainda muito incipiente, mais uma promessa do que uma luz de verdade.
Ele caminhou até a escrivaninha de mogno onde Heitor Lupec preparava suas aulas e fazia seus rascunhos. Abriu a gaveta do meio e, sentindo a madeira correr silenciosamente pelos caixilhos, mais pelo tato do que por qualquer outro sentido, encontrou a caixa de cetim que continha o punhal.
Tinha-o visto numa outra tarde. O próprio Heitor o havia mostrado ao neto. Era uma coisinha medieval, que o Sr. Lupec comprara num leilão havia muitos anos. Pequeno, pesado e pontiagudo. Heitor usava-o para abrir cartas, mas ele era bastante afiado.
M. sacou a arma da sua caixa com a mesma cerimônia com que abriria o caixão de um morto querido. Então correu os dedos pela lâmina, sentindo a superfície, fria como a pele de um peixe recém-tirado do mar. Um peixe de metal para dar cabo de uma sereia, pensou M.
Guardou então a caixa vazia na gaveta da escrivaninha e voltou ao seu quarto sem fazer qualquer ruído. Como uma sombra, pois ele já se sentia alguma coisa de outro mundo, uma espécie de alma penada.
Depois M. dormiu um longo sono sem sonhos, o último sono pacífico da sua vida.
10
A partir de agora, preciso vigiar cada palavra dita. Não posso sair por aí inventando tolamente coisas, imaginando isso ou aquilo. É óbvio, meus caros, que troquei os nomes de todos neste meu esquivo relato. Troquei todos os nomes, menos o meu.
Talvez nunca ninguém leia isto, e então terei quebrado a minha cabeça inutilmente. Não há problema, já gastei um bom quinhão da minha vida em coisas inúteis, e estas páginas, acreditem, trouxeram-me algum consolo, clarearam as minhas ideias. Não é fácil ver vidas desmoronando assim, numa espécie de reação em cadeia. Não é nada fácil mesmo.
De qualquer modo, a partir daqui, como eu disse, precisarei manter-me muito atento ao caminho. Nada de entrar em pequenos atalhos, por mais tentadores que eles possam parecer... Contarei as coisas como elas me foram contadas por M.
Sem as lágrimas, sem os longos hiatos.
Sem todo aquele tremor de mãos.
Pois, no dia seguinte, M. tratou de procurar June. Encontrou-a em casa, lendo um livro. A avó Morel tinha ido à igreja. Sentada numa cadeira de palha, na varanda, com seu pequeno exemplar de alguma coisa de Agatha Christie nas mãos, June parecia angelical, quase pudica.
Ao vê-la, M. titubeou por um segundo. Seu coraçãozinho fraquejou, mas ele recuperou-se rapidamente, pois estava plenamente decidido a colocar o seu diabólico plano em ação. A coisa toda poderia ser feita ali evidentemente; mas M. pretendia ser o mais justo possível. Não seria um bom jeito de encontrar a casa quando a gente volta da missa, não seria mesmo. E o jovem não tinha nada contra o casal Morel.
Então meu jovem amigo convidou June a um encontro noturno. Disse-lhe que, na noite anterior, tivera que permanecer em casa, pois sua avó convalescera de uma das suas terríveis crises de enxaqueca e Heitor Lupec tinha ido jogar tranca com os amigos.
June não o questionou. Ela não tinha mesmo muita certeza de tê-lo visto no molhe naquela noite. Vira um vulto, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa, ou a sua própria e fértil imaginação. De qualquer modo, parecia a June tremendamente impossível que M. tivesse sido testemunha daquele encontro e estivesse ali, tão calmo e sereno como um santo no altar. Assim, ambos combinaram de se ver à noite, no armazém abandonado.
— Às 10 horas — pediu M.
Não sei como ela saía e entrava em casa a torto e a direito, como conseguia ludibriar os avós a cada noite, mas June confirmou-lhe alegremente que estaria lá.
Quando ficou sozinha outra vez, Agatha Christie já não tinha a mesma graça para June.
Ela ligou então para Sebastian — e isso foi uma suposição do próprio M., que apenas transcrevo aqui. Garanto-lhes: não estou imaginando nada. June ligou para o seu novo amante e marcou um encontro. Às 10h15, no armazém tal do porto. A porta estaria entreaberta.
Imagino que ela tencionava dar um pequeno presentinho de libertinagem ao seu querido (e libertino) Sebastian. Ele certamente ficaria furioso e enciumado, isso sem falar no quesito excitação. De qualquer modo, era um jeito bem enfático de fazer com que Sebastian Amis tomasse uma decisão.
Pois o fato é que a nossa sereia estava pressionando Sebastian Amis. Pressionava-o por todos os lados, porque queria ir embora com ele. Um outro inverno em Neptuno June tinha certeza de que não poderia suportar. Fazê-lo ansiar por ela pareceu-lhe mais fácil e proveitoso do que simplesmente atacar a jovem loira esposa de Sebastian, quando esta saísse da padaria ou do salão de beleza, anunciando-lhe à queima-roupa que tinha um caso com o seu maridinho. A cabeça de June era tortuosa, se é que vocês me entendem. Ela sempre preferia avançar às avessas.
E assim foi.
M. chegou às 21h55 ao galpão abandonado. Sentou-se na velha enxerga de palha, tocou no punhal dentro do bolso e pôs-se a esperar pacientemente. Não me disse em que estado estava o seu coração naquela noite... Mas imagino que subisse e descesse, desgovernado como um carrinho de montanha-russa com problemas.
A mesma luz pálida de luar entrava pelas frestas das paredes de madeira, e ele recordou-se de outras noites passadas ali ao lado de June, outras noites mais felizes. M. sentiu vontade de chorar, e chorou. Naquela mesma tarde, comprara uma passagem de volta para a manhã seguinte, e trazia-a no bolso, como uma garantia dos seus planos. Tinha preparado também uma roupa extra numa sacola ao seu lado. Nisso se resumia o seu planejamento. Ah, pobre rapaz louco de amor, que enorme atrocidade ele pode cometer?
Ainda era tempo de voltar atrás.
Não por June. Mas por Heitor e Ilma, por sua mãe, pelos avós de June.
M. pensou no pai, do outro lado do mundo, e sentiu-o tão distante como se ele fizesse parte de um outro tempo. Não tinha pena por Alzamora — o próprio M. me disse isso... Nunca contei ao meu amigo nada disso; certas mágoas, muito poucas nesta vida, aliás, a gente pode evitar, como quem desvia flechas de um alvo já bastante machucado.
June chegou à hora combinada. Usava um vestidinho branco de broderie, chinelos de borracha, os cabelos num rabo de cavalo. Parecia uma dessas meninas de comercial de shampoo, lindas, cheias de vida, com seus sorrisos brancos, cabelos cintilantes, olhos de futuro. Enfim, estava diáfana.
Ela abraçou M. Acho que tinha certa pressa de montar a cena toda... Certamente não estava tendo uma recaída da sua paixonite pelo rapaz. Ah, não... O próprio Sebastian Amis confirmou à polícia que June o importunava para que deixasse a sua mulher e a levasse embora da casa dos avós. Eu li o depoimento; no fundo, Sebastian Amis me pareceu bastante aliviado. Claro que as coisas chegaram ao ouvido da sua esposa, mas toda aquela tragédia aproximou-os de novo... A esposa enganada não tinha mais por que ter ciúmes de uma jovenzinha maluca que já estava morta; e imagino que no próximo verão aluguem outra casa em outro balneário, mas certamente a Sra. Amis, daqui para a frente, vai ficar de olho nas vizinhas, e talvez abandone o hábito da sesta...
Enfim, preciso contar aqui. Você sabe o quê. E acabo de descobrir que sou meio puritano para essas coisas. Imaginei tantas vezes a cena. Posso ouvir M. narrando a sequência de seus gestos.
Um abraço.
Ele não teve coragem de beijá-la.
Antes que desistisse de tudo, antes que June exercesse o conhecido efeito sobre a sua pessoa, M. sacou o punhal do bolso da calça jeans.
Sentiu a frieza do metal nas mãos, mas o resto todo dele era puro calor.
A pele de June era macia, mas M. teve de fazer força. Nunca havia imaginado que seria assim... Uma, duas, três vezes. Fundo, bem fundo.
Ela gritou, coitadinha. A lâmina tocou o osso à altura do ombro. Os olhos de June se arregalaram, um novo grito morreu na sua boca. Ela gemeu. Ele segurou-a usando a mão ferida e com a outra fez o resto do trabalho com o punhal. O sangue começou a jorrar, manchando o vestido branco. June finalmente caiu no chão, os olhos abertos. Um fio de luz entrou pelo vão da parede e cruzou-lhe o rosto imóvel e bonito. Aqueles olhos azuis, grandes como moedas, já olhavam para o outro lado.
Creio que Sebastian Amis entrou lá nesse exato momento...
M. estava em pé, ensanguentado e confuso. June jazia no chão, o corpo atravessado sobre a esteira de palha.
M. viu-o. Não sorriu, não gritou, não disse nada. Sebastian também se manteve calado. Deve ter temido pela própria pele por um momento. Afinal, não era absolutamente nada disso que Sebastian esperava encontrar... Mas então M. atirou o punhal ao chão, ou deixou-o escapar das mãos simplesmente.
O fato é que M. se desfez do punhal. Desarmado, não era grande coisa para Sebastian, que avançou para ele. Mas o jovem M. saiu correndo, esgueirou-se para longe das mãos de Sebastian sem um arranhão, saiu porta afora, cruzou a viela quieta, correu através do porto, deserto àquela hora, sob o olhar pacífico dos navios ancorados, e desapareceu na noite de Neptuno.
Uma centelha de realidade perpassou-lhe a alma, e M. deu-se conta de que estava completamente sujo de sangue. Tinha a passagem rodoviária no bolso da calça, mas o surgimento inesperado de Sebastian fizera com que ele esquecesse a pequena mochila com a muda de roupa lá no galpão.
Ocorreu-lhe, então, o velho pescador...
Não há dúvidas de que M. sabia que seria preso. Na verdade, ele tencionava entregar-se. Mas não naquela noite, não daquele jeito... Queria livrar-se do sangue de June que lhe escorria pelo peito.
Então atravessou algumas ruas e foi até a casinha tosca, no fim de uma ruela cheia de terrenos baldios. June tinha lhe mostrado a casa certa vez. E M. bateu à porta do velho Bertuíno.
Era muito tarde para quem vive de tirar peixes do mar ao alvorecer, e o pescador arrastou-se da cama para atender à porta.
Encontrou M., ensanguentado e fora de si, pedindo-lhe, numa voz entrecortada de angústia, uma muda de roupa limpa.
Talvez fosse muito para um pescador já avançado nos anos, mas Bertuíno não questionou o rapaz. Não sei o que lhe passou pela cabeça, pois nunca conversamos. Quando eu estive em Neptuno, fui informado de que o velho se mudara dali depois do enterro de June. De qualquer modo, M. nunca o mencionou à polícia. Nem eu. Assim, Bertuíno foi deixado em paz com os próprios fantasmas, e deve ter saído de Neptuno à procura de uma outra sereia que pudesse encher a sua rede.
Naquela noite, Bertuíno fez com que M. entrasse na casa, buscou-lhe a melhor calça que tinha e uma camisa branca de percal. Viu M. trocar-se ali mesmo, na sua cozinha humilde, sob a luz de duas velas.
Por fim, recolheu as roupas manchadas e disse-lhe:
— Amanhã eu enterro isto.
O jovem agradeceu, comovido. Não tinha nada para dar ao bom homem, a não ser a sua passagem. Lembrou-se, então, do relógio de pulso, tirou-o e estendeu-o ao pescador.
Bertuíno olhou o relógio sem tocá-lo e respondeu:
— Guarde isso. Eu tiro o meu sustento do mar.
E, sem mais, abriu a porta da casa, entregando a M. a noite sem fim.
Por alguns momentos, o velho pescador ainda pôde ouvir o barulho dos passos de M. ecoando no silêncio, e então tudo acabou. Sobre a mesa de madeira crua, a única prova daquela visita noturna eram as duas peças de roupa manchadas de sangue.
Bertuíno sequer esperou a manhã seguinte: queimou-as no seu fogão naquela mesma noite (mas isso, meus caros, sou eu quem está acrescentando...).
Eu devo ter deixado as coisas suficientemente claras para vocês.
Não sou do tipo de dar voltas de modo planejado e, literariamente, isso seria provavelmente impossível para mim. Bem, eu sei que andei em círculos muitas vezes até aqui... Segui o meu raciocínio do modo mais fácil, eu diria até mesmo mais inocente. Como uma criança correndo atrás de uma bola fujona, eu me via frequentemente necessitado de sair e retornar ao campo.
Mas, enfim, todos sabemos que M. morreu.
Cometeu suicídio, para ser exato.
Uma faca.
Sim, ele demonstrou ter uma fixação por objetos afiados...
Creio que isso — o suicídio — faz toda a diferença. Para os católicos, por exemplo. As religiões, quase todas, são muito criteriosas com essas coisas. Mas M. não era absolutamente religioso, e acho que sua família não tinha nenhum tipo de fé. Mas a sua morte calou todas as bocas. Subitamente, o assunto esgotou-se, aqui e em Neptuno... Talvez Heitor e Ilma tenham recuperado a coragem de sair à rua, de tomar o chá no jardim novamente. Não sei.
De qualquer modo, M. se matou uns três meses depois daquela noite no armazém. Éramos já bastante unidos. Afinal, a gente não ouve por dezenas de horas o monólogo de um rapazinho com aqueles olhos agoniados de amor sem criar qualquer nesga de estima por ele, a não ser que o sujeito seja mesmo muito deplorável.
Não era o caso de M., devo dizer-lhes.
Era um bom menino, inteligente e extremamente encantador ao seu modo, que cometeu uma enorme maluquice. Posso ver isso muito claramente, e me esforcei por compreender as circunstâncias e as miudezas ao redor desses fatos como poucas vezes me esforcei nesta minha vida para alguma coisa.
Como eu disse antes, não é fácil ver uma tragédia assim desabar sobre os outros. A coisa vai além da curiosidade mórbida — no meu caso, em especial, precisei entender os meandros da coisa, precisei chapinhar neles de verdade. Mostrar o lado bom de M. foi, para mim, um alívio. Afinal, se o jovem assassino poderia ser amável, até mesmo eu, carregando meu passado desonroso às costas como quem carrega um fardo de concreto, posso ter alguma coisa de bom.
Vejam bem, estou mostrando-lhes o meu lado mais egoísta... Mas não é só isso.
Eu repito aqui: tentei ajudar aquele rapaz. Eu realmente tentei ajudá-lo com o desfecho da história toda, muito embora eu soubesse, de maneira intuitiva, que não haveria um futuro para ele.
Não que ele fosse se matar, nada disso. Essa ideia só começou a me ocorrer lá em Neptuno, mas não lhe dei crédito suficiente.
Eu apenas sabia que, mesmo recebendo uma pena leve, o filho de Alzamora nunca mais sairia para a vida. Ele criara a sua própria prisão, fechara-a e jogara a chave fora. Bastava olhar no fundo dos seus olhos para entender o que eu lhes digo.
Passei a gostar de M. como um dia gostei do pai dele. Através da sua bela e torturada narrativa, apaixonei-me um tanto por June. Depois odiei-a profundamente. Depois lastimei pelos dois infelizes. Atrevo-me a dizer mais uma vez que o mundo perdeu um bom narrador, um escritor nato, com o seu suicídio.
Bem, talvez se ele tivesse começado a escrever antes... Afinal, quantas vezes podemos matar uma mesma pessoa numa história de ficção?
Infinitas, creio eu.
Mas não coloquei uma caneta na mão de M. a tempo, nem o seu velho e gentil avô especialista em Borges. Teria sido um caminho, de qualquer modo. Cercado pela vil realidade por todos os lados, porém, o rapaz viu-se obrigado a ir às vias de fato.
Leticia Wierzchowski
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















