



Biblio VT




Paris, anos 60. No café Condé reúnem-se poetas malditos, futuros situacionistas e estudantes. À nostalgia que impregna aquelas paredes junta-se um enigma personificado numa mulher: todas as personagens e histórias confluem na misteriosa Louki. Quatro homens contam-nos os seus encontros e desencontros com a filha de uma empregada do Moulin-Rouge. Para quase todos eles, ela encarna o inalcançável objecto de desejo. Louki, tal como todos os boémios que vagueiam por uma Paris espectral, é uma personagem sem raízes, que inventa identidades e luta por construir um presente perpétuo. Modiano recria em redor da fascinante e comovente personagem desta mulher a Paris da sua juventude, enquanto constrói um maravilhoso romance sobre o poder, memória e a busca da identidade.
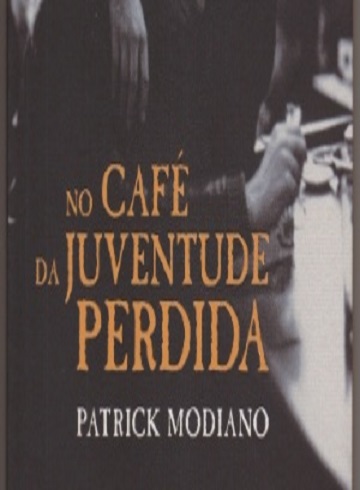
Das duas entradas do café, ela utilizava sempre a mais estreita, a chamada porta da sombra. Escolhia a mesma mesa, ao fundo da pequena sala. Nos primeiros tempos,
não falava a ninguém, depois travou conhecimento com os clientes habituais do Condé, a maioria dos quais tinha a nossa idade, entre dezanove e vinte e cinco anos,
diria eu. Às vezes, sentava-se nas suas mesas, mas em geral, mantinha-se fiel ao seu lugar, bem ao fundo.
Não tinha hora certa para chegar. Podia encontrar-se lá de manhã muito cedo. Ou então surgir por volta da meia-noite e ficar até à hora do encerramento. Era o café
do bairro que fechava mais tarde, juntamente com o Bouquet e o Pérgola, e o que tinha a clientela mais estranha. Com o tempo, pergunto-me se não seria precisamente
a sua presença que conferia ao local e às pessoas aquela estranheza, como se as tivesse impregnado do seu perfume.
Suponhamos que tínhamos sido transportados para ali de olhos vendados, instalados a uma mesa, libertos da venda e deixados à vontade durante alguns minutos antes
de responder à pergunta: Em que bairro de Paris nos encontramos?
pag. 7
Talvez bastasse observar os vizinhos e ouvir as conversas para adivinhar: Nas imediações do carrefour de L'Odéon, que continuo a imaginar sempre nostálgico debaixo
de chuva.
Certo dia, um fotógrafo entrou no Condé. Nada no seu aspecto o distinguia dos clientes. A mesma idade, a mesma indumentária descuidada. Um casaco demasiado comprido
para a sua estatura, calças de algodão e pesadas botas de estilo militar. Tirou numerosas fotografias aos frequentadores do Condé. O fotógrafo tornara-se também
ele um cliente e, para os outros, era como se tirasse fotografias de família. Muito mais tarde, surgiram num álbum consagrado a Paris tendo por legenda simplesmente
os nomes ou apelidos dos clientes. E ela figura em diversas fotografias. Captava a luz melhor do que os outros, como se diz em linguagem cinematográfica. Entre toda
a gente, é ela que vemos em primeiro lugar. Ao fundo da página, nas legendas, é identificada pelo nome "Louki". "Da esquerda para a direita: Zacharias, Louki, Tarzan,
Jean-Michel, Fred e Ali Cherif..." "Em primeiro plano, sentada ao balcão: Louki. Atrás dela, Annet, Don Carlos, Mireille, Adamov e o Dr. Vala." Mantém-se muito hirta,
enquanto os outros exibem posturas descontraídas. O que se chama Fred, por exemplo, adormeceu com a cabeça encostada ao banco estofado de tecido sintético e, visivelmente,
há vários dias que não se barbeia. Importa precisar o seguinte: o nome de Louki foi-lhe dado a partir do momento em que começou a frequentar o Condé. Encontrava-me
presente numa noite em que ela entrou por volta da meia-noite e em que já só restavam Tarzan, Fred, Zacharias e Mireille, sentados à mesma mesa. Foi Tarzan que gritou:
"Oh, chegou a Louki..." Primeiro, pareceu assustada, depois sorriu. Zacharias levantou-se e, num tom de falsa gravidade: "Esta noite, eu te baptizo. Doravante, chamar-te-ás
Louki." E, à medida que as horas passavam e que cada um deles começava a chamar-lhe Louki, creio que se sentiu aliviada por usar aquele novo nome.
pag. 8
Sim, aliviada. De facto, quanto mais medito, mais retomo a minha impressão inicial: ela refugiava-se ali, no Condé, como se quisesse evitar qualquer coisa, escapar
a um perigo. Esta ideia ocorreu-me ao vê-la sozinha, lá no fundo, naquele lugar em que ninguém repararia nela. E quando se misturava com os outros, também não despertava
as atenções. Permanecia em silêncio e reservada e limitava-se a ouvir. E pensei mesmo que, para maior segurança, preferisse os grupos ruidosos, os "barulhentos",
pois de contrário não se sentaria quase sempre à mesa de Zacharias, de Jean-Michel, de Fred, de Tarzan e de la Houpa... Com eles, diluía-se no ambiente, era apenas
uma comparsa anónima, daquelas que figuram nas legendas das fotos como "Pessoa não identificada" ou, mais simplesmente, "X". Sim, nos primeiros tempos, no Condé,
nunca a vi a sós com ninguém. E depois, não havia nenhum inconveniente em que um dos barulhentos lhe chamasse Louki aos berros, visto que não era o seu verdadeiro
nome.
Todavia, reparando bem, distinguiam-se certos pormenores que a diferenciavam dos outros. Vestia-se com um cuidado pouco habitual nos clientes do Condé. Certa noite,
à mesa de Tarzan, acendeu um cigarro e fiquei impressionado pela delicadeza das suas mãos. E acima de tudo, pelas unhas brilhantes. Pintadas de verniz incolor. Este
pormenor corre o risco de parecer fútil. Sejamos então mais sérios. Para tal, importa fornecer alguns pormenores sobre os clientes habituais do Condé. Tinham, pois,
entre dezanove e vinte e cinco anos, excepto alguns clientes como Babilée, Adamov ou o Dr. Vala, que rondavam os cinquenta, mas a sua idade não contava. Babilée,
Adamov e o Dr. Vala eram fiéis à sua juventude, àquilo a que podíamos chamar "boémia", um termo belo, melodioso e antiquado. Procuro "boémio" no dicionário: Pessoa
que vive uma existência vagabunda, sem regras nem preocupações com o dia seguinte.
pag. 9
Uma definição que se aplicava bem àqueles e àquelas que frequentavam o Condé. Alguns, como Tarzan, Jean-Michel e Fred pretendiam já ter estado diversas vezes a braços
com a polícia desde a adolescência e la Houpa fugira aos dezasseis anos da casa de correcção do Bon-Pasteur. Mas estávamos na Margem Esquerda e a maior parte deles
vivia à sombra da literatura e das artes. Eu era estudante. Não me atrevia a declará-lo e não me misturava muito com o grupo.
Sentira perfeitamente que Louki era diferente dos outros. De onde viera, antes de lhe chamarem assim? Muitas vezes, os clientes do Condé traziam um livro na mão,
que pousavam de forma negligente na mesa e cuja capa se encontrava manchada de vinho. Os Cantos de Maldoror(1). Iluminações(2). Les Barricades mystérieuses(3). Mas
ela, de início, andava sempre de mãos a abanar. E depois, quis com certeza fazer como os outros e um dia, no Condé, surpreendi-a sozinha, a ler. A partir daí, o
livro nunca mais a largou. Pousava-o bem em evidência no tampo da mesa, quando se encontrava na companhia de Adamov e dos outros, como se o livro fosse um passaporte
ou uma autorização de residência que legitimava a sua presença ao lado dos outros. Mas ninguém lhe prestava atenção, nem Adamov, nem Babilée, nem Tarzan, nem la
Houpa. Era um livro de bolso, de capa suja, daqueles que se compram em saldo nos cais e cujo título estava impresso em grandes caracteres vermelhos: Horizonte Perdido(4).
Naquele tempo, este título não me dizia nada.
____________
1. Autor: Isidore Ducasse, Condé de Lautréamont. (N. da T.)
2. Autor: Arthur Rimbaud. (N. da T.)
3. Autor: Olivier Larronde. (N. da T.)
4. Autor: James Hilton. (N. da T.)
pag. 10
Devia ter-lhe perguntado de que tratava o livro, mas pensei estupidamente que Horizonte Perdido representava para ela um acessório e que fingia lê-lo para se guiar
pelo mesmo diapasão da clientela do Condé. Um transeunte que lançasse um olhar furtivo do exterior - e mesmo que apoiasse momentaneamente a testa contra o vidro
- tê-la-ia considerado uma simples clientela de estudantes. Mas mudaria rapidamente de opinião ao reparar na quantidade de álcool que se ingeria à mesa de Tarzan,
de Mireille, de Fred e de la Houpa. Nos tranquilos cafés do Quartier Latin, ninguém beberia assim. É verdade que, à tarde, nas horas mortas, o Condé podia iludir.
Mas à medida que o dia avançava, tornava-se ponto de encontro do que um filósofo sentimental chamava "a juventude perdida". Porquê aquele café e não outro? Por causa
da dona, uma Mme Chadly que parecia não se surpreender com nada e que manifestava mesmo uma certa indulgência para com os clientes. Muitos anos mais tarde, quando
as ruas do bairro já só exibiam montras de estabelecimentos de luxo e uma marroquinaria ocupava o espaço do Condé, encontrei Mme Chadly na outra margem do Sena,
a subir a rue Blanche. Não me reconheceu logo à primeira. Caminhámos lado a lado um longo momento a falar do Condé. O marido, um argelino, comprara o negócio depois
da guerra. Lembrava-se dos nomes de todos nós. Costumava interrogar-se sobre qual teria sido o nosso futuro, mas nunca alimentara ilusões. Soubera desde o início
que as coisas nos correriam mal. Cães vadios, disse ela. E, quando nos despedimos em frente da farmácia da place Blanche, confiou-me, fitando-me bem nos olhos: "Quanto
a mim, quem eu preferia era a Louki." Quando se encontrava à mesa de Tarzan, de Fred e de la Houpa, beberia ela tanto como eles, ou fingiria, para não lhes desagradar?
Em todo o caso, de busto direito, gestos lentos e graciosos, e sorriso quase imperceptível, aguentava bem o álcool.
pag. 11
Ao balcão, é mais fácil fazer batota. Aproveita-se um momento de distracção dos amigos embriagados para despejar o copo no lava-louça. Mas ali, a uma das mesas do
Condé, era mais difícil. Os outros obrigavam-nos a acompanhá-los no que bebiam. Mostravam-se extremamente susceptíveis e consideravam-nos indignos do grupo se não
os seguíssemos até ao fim do que chamavam as "viagens". Quanto às outras substâncias tóxicas, julguei compreender, sem ter a certeza, que Louki as consumia, como
alguns membros do grupo. Todavia, nada no seu olhar e na sua atitude sugeria que visitasse os paraísos artificiais.
Perguntei-me muitas vezes se algum dos seus conhecidos lhe falara do Condé antes de ali entrar pela primeira vez. Ou se alguém marcara encontro com ela naquele café
e não comparecera. Louki, então, ter-se-ia postado, dia após dia, noite após noite, à mesma mesa, na esperança de encontrar o desconhecido naquele local que era
o único ponto de referência entre os dois. Mais nenhum meio de o localizar. Nem endereço. Nem número de telefone. Apenas um nome. Mas talvez ali tivesse ido por
acaso, como eu. Encontrava-se no bairro e precisava de se abrigar da chuva. Sempre acreditei que há lugares magnéticos que nos atraem quando nos encontramos nas
proximidades. E de forma imperceptível, sem o sabermos. Basta uma rua inclinada, um passeio soalheiro, ou um passeio sombrio. Ou então um aguaceiro. E lá vamos nós,
precisamente para o sítio onde tínhamos de ir. Julgo que o Condé, pela sua localização, possuía esse poder magnético e que, se fizéssemos um cálculo de probabilidades,
o resultado o teria confirmado: num perímetro bastante extenso, era inevitável convergir para ele. Sei do que falo.
Um dos membros do grupo, Bowing, a quem chamávamos "o Capitão", lançara-se numa tarefa que fora aprovada pelos outros.
pag. 12
Há quase três anos que tomava nota dos nomes dos clientes do Condé, à medida que chegavam, sem se esquecer da data e da hora exacta. Encarregara dois amigos de fazer
o mesmo no Bouquet e no Pérgola, que continuavam abertos durante a noite. Infelizmente, nestes dois cafés, os clientes nem sempre queriam dizer o nome. No fundo,
Bowing procurava salvar do esquecimento as borboletas que às vezes esvoaçam em redor de um candeeiro. Sonhava, dizia ele, com um imenso registo onde fossem apontados
os nomes dos clientes de todos os cafés de Paris nos últimos cem anos, com a menção das respectivas chegadas e partidas. Era perseguido por aquilo a que chamava
"os pontos fixos".
No fluxo ininterrupto de mulheres, de homens, de crianças, de cães que passam e acabam por se perder ao longo das ruas, era bom reter um rosto, de vez em quando.
Sim, na opinião de Bowing, importava, no meio do maelstrom das grandes cidades, encontrar alguns pontos fixos. Antes de partir para o estrangeiro, dera-me o caderno
onde se encontram inscritos, diariamente, ao longo de três anos, os clientes do Condé. Louki figura com este nome e é mencionada pela primeira vez num 23 de Janeiro.
O Inverno, nesse ano, foi particularmente rigoroso e alguns de nós não se ausentavam do Condé o dia inteiro, para nos protegermos do frio. O Capitão também apontava
os nossos endereços, de tal modo que era possível imaginar o trajecto habitual que conduzia cada um de nós ao Condé. Para Bowing, era mais uma maneira de estabelecer
pontos fixos. Não menciona logo à primeira o endereço de Louki. Só num dia 18 de Março podemos ler: "Louki, 16, rue Fermat, XIVe arrondissement." Mas a 5 de Setembro
do mesmo ano o endereço já não é o mesmo: "23h40. Louki, 8, rue Cels, XIVe arrondissement." Imagino que Bowing, nos grandes mapas de Paris, desenhava os nossos trajectos
até ao Condé e que, para tal, se servia de esferográficas de cores diferentes.
pag. 13
Talvez quisesse saber se tínhamos alguma oportunidade de nos cruzarmos antes de chegar ao objectivo.
Justamente, lembro-me de ter encontrado Louki certo dia, num bairro que não conhecia e onde fora visitar um primo afastado dos meus pais. À saída da casa dele, quando
me dirigia para a estação de metro Porte-Maillot, cruzámo-nos ao fundo da avenue de la Grande-Armée. Encarei-a e ela também me observou com um olhar inquieto, como
se eu a tivesse surpreendido numa situação embaraçosa. Estendi-lhe a mão: "Já nos encontrámos no Condé", disse-lhe eu, e o café pareceu-me bruscamente do outro lado
do mundo. Louki esboçou um sorriso comprometido: "Ah, sim... no Condé..." Foi pouco tempo depois da sua primeira aparição. Ainda não se misturara com os outros e
Zacharias ainda não a alcunhara de Louki. "Estranho café, hem, o Condé..." Meneou a cabeça em sinal de aprovação. Demos alguns passos juntos e depois disse-me que
morava ali, mas que não gostava nada do bairro. Foi um disparate, podia ter ficado a saber o seu nome naquele dia. Separámo-nos na porte Maillot, à entrada do metro,
e vi-a afastar-se em direcção a Neuilly e ao bois de Boulogne, numa passada cada vez lenta, como para proporcionar a alguém a ocasião de a alcançar. Pensei que nunca
mais regressasse ao Condé e que não voltasse a ter notícias dela. Louki desapareceria no que Bowing chamava "o anonimato da grande cidade", contra o qual pretendia
lutar cobrindo de nomes as páginas do seu caderno. Um Clairefontaine de capa vermelha plastificada de cento e noventa páginas. Para ser franco, não adianta muito.
Folheando o caderno, à excepção dos nomes e endereços dos fugitivos, não se fica a saber nada de todas aquelas pessoas nem de mim. O Capitão devia pensar que já
era muito ter-nos nomeado e "fixado" algures. Quanto ao resto...
pag. 14
No Condé, nunca fazíamos perguntas uns aos outros a respeito das nossas origens. Éramos muito novos, não tínhamos um passado a desvendar, vivíamos no presente. Nem
mesmo os clientes mais velhos, Adamov, Babilée ou o Dr. Vala aludiam alguma vez ao passado. Cingiam-se a estar ali, entre nós. Só hoje, decorrido todo este tempo,
sinto uma falha: gostaria que Bowing tivesse sido mais preciso no seu caderno e tivesse consagrado uma breve resenha biográfica a cada um. Acreditaria realmente
que, mais tarde, bastariam um nome e um endereço para reencontrar o fio de uma vida? "Louki. Segunda-feira, 12 de Fevereiro, 23 horas." "Louki. 28 de Abril, 14 horas."
Também apontava os lugares que os clientes ocupavam à roda das mesas, todos os dias. Às vezes, não há apelidos nem nomes. No mês de Junho desse ano, escreveu três
vezes: "Louki com o moreno do casaco de camurça." Bowing não lhe perguntou o nome, ou talvez ele se tenha esquivado a responder. Aparentemente, não se trata de um
cliente habitual. O moreno do casaco de camurça perdeu-se para sempre nas ruas de Paris, e Bowing limitou-se a fixar a sua sombra durante alguns segundos. Além de
tudo isto, o caderno contém erros. Acabei por estabelecer pontos de referência que confirmam a minha ideia de que Louki não entrou pela primeira vez no Condé em
Janeiro, como Bowing sugere. Lembro-me dela muito antes dessa data. O Capitão só a mencionou a partir do momento em que os outros começaram a chamar-lhe Louki, e
suponho que, até então, não reparara na sua presença. Louki nem sequer teve direito a uma nota vaga do género "14 horas. Uma morena de olhos verdes", como o moreno
do casaco de camurça.
Foi em Outubro do ano anterior que Louki fez a sua aparição. Descobri no caderno do Capitão um ponto de referência: "15 de Outubro. 21 horas. Aniversário de Zacarias.
pag. 15
À mesma mesa: Annet, Don Carlos, Mireille, la Houpa, Fred, Adamov." Recordo-me perfeitamente. Louki também estava à mesa. Porque não teve Bowing a curiosidade de
lhe perguntar o nome? Os testemunhos são frágeis e contraditórios, mas tenho a certeza de que Louki se encontrava presente naquela noite. Tudo o que a tornava invisível
aos olhos de Bowing me impressionou. A timidez, os gestos lentos, o sorriso e sobretudo o silêncio. Encontrava-se ao lado de Adamov. Talvez a sua presença se devesse
a Adamov. Cruzara-me muitas vezes com ele nas paragens do Odéon, e mais adiante, perto de Saint-Julien--le-Pauvre. Deslocava-se sempre apoiado no ombro de uma rapariga.
Um cego que se deixa guiar. E, no entanto, parecia observar tudo, com o seu olhar de cão trágico. E, pensava eu, a rapariga que lhe servia de guia era sempre diferente.
De guia ou de enfermeira. Porque não ela? Pois justamente nessa noite Louki saiu do Condé acompanhada por Adamov. Vi-os descer a rua deserta em direcção ao Odéon,
Adamov com a mão no ombro de Louki e avançando no seu passo mecânico. Dir-se-ia que Louki receava caminhar demasiado depressa e às vezes marcava um compasso de espera,
como se ele precisasse de retomar o fôlego. No carrefour de L'Odéon, Adamov apertou-lhe a mão de uma maneira algo solene, antes de a ver desaparecer na boca do metro.
O homem retomou o seu andar de sonâmbulo em direcção a Saint-André-des-Arts. E ela? Sim, Louki começou a frequentar o Condé no Outono. E não foi com certeza por
acaso. Para mim, o Outono nunca foi uma estação triste. As folhas secas e os dias cada vez mais curtos nunca me recordaram o fim de alguma coisa, antes uma expectativa
do futuro. Há electricidade no ar, em Paris, nas tardes de Outono, à hora em que cai a noite. Mesmo quando chove. Não fico deprimido, nem tenho a impressão de que
o tempo me foge. Sinto que tudo é possível. O ano começa no mês de Outubro.
pag. 16
É o início das aulas e julgo ser a estação dos projectos. Portanto, se Louki entrou no Condé pela primeira vez em Outubro, foi por ter rompido com uma parte da sua
vida e querer COMEÇAR DE NOVO, como se lê nos romances. De resto, há um indício que me leva a pensar não estar equivocado. No Condé, deram-lhe um novo nome. E Zacharias,
nesse dia, falou mesmo de baptismo. Um segundo nascimento, de algum modo.
Quanto ao moreno do casaco de camurça, infelizmente não figura nas fotografias tiradas no Condé. É pena. Acabamos sempre por identificar alguém graças a uma fotografia.
Pode ser publicada num jornal ao mesmo tempo que se lança um apelo. Seria um membro do grupo que Bowing não conhecia e cujo nome teve preguiça de apontar?
Ontem à noite, folheei atentamente todas as páginas do caderno. "Louki com o moreno do casaco de camurça." E apercebi-me, para minha grande surpresa, de que não
fora só em Junho que o Capitão citara o desconhecido. Ao fundo de uma página, garatujou à pressa: "24 de Maio. Louki com o moreno do casaco de camurça." E deparamos
com a mesma legenda duas vezes, em Abril. Perguntei a Bowing por que razão, sempre que se tratava dela, sublinhava o nome a lápis azul, como para a distinguir dos
outros. Não, não fora ele. Num dia em que se encontrava ao balcão e apontava, no caderno, os clientes presentes na sala, um homem de pé ao seu lado surpreendera-o
na sua tarefa: um tipo de cerca de quarenta anos, que conhecia o Dr. Vala. Falava numa voz suave e fumava tabaco louro. Bowing sentira-se à vontade e dirigira-lhe
algumas palavras sobre o que chamava o seu Livro de Ouro. O outro mostrara-se interessado. Era "editor de arte". Sim, conhecia o homem que tirara fotografias algum
tempo antes, no Condé. Propunha-se publicar um álbum sobre o assunto, que se intitularia: Um Café de Paris.
pag. 17
Importar-se-ia de lhe emprestar o caderno até ao dia seguinte, pois poderia ajudá-lo a escolher legendas para as fotos? No dia seguinte, devolvera o caderno a Bowing
e não voltara a aparecer no Condé. O Capitão surpreendera-se ao ver o nome Louki sempre sublinhado a lápis azul. Quis saber mais e fez algumas perguntas ao Dr. Vala
sobre o editor de arte. Vala mostrara-se espantado. "Ah, ele disse que era editor de arte?" Conhecia-o superficialmente, por se ter cruzado com ele na rue Saint-Benoît,
em La Malène e no bar do Montana, onde chegara a jogar algumas vezes com ele ao quatrocentos e vinte e um. O tipo frequentava o bairro há muito tempo. Como se chamava?
Caisley. Vala parecia um pouco embaraçado ao falar dele. E quando Bowing aludira ao caderno e ao nome Louki sublinhado a lápis azul, perpassara pelo olhar do médico
uma expressão inquieta. Fora um episódio muito fugaz. Depois sorrira. "Deve interessar-se pela rapariga... É tão bonita... Mas que ideia tão estranha, essa de encher
um caderno com todos esses nomes... Divirto-me consigo e com o seu grupo, e com as vossas experiências de patafísica..." Confundia tudo, a pata-física, o letrismo,
a escrita automática, as metagrafias e todas as experiências feitas pelos clientes mais literatos do Condé, como Bowing, Jean-Michel, Fred, Babilée, Larronde ou
Adamov. "Além disso, é perigoso fazer uma coisa dessas", acrescentara o Dr. Vala numa voz grave. "Esse caderno parece um registo da polícia ou o expediente de uma
esquadra. É como se tivéssemos sido apanhados numa rusga..."
Bowing protestara procurando explicar-lhe a sua teoria dos pontos fixos, mas a partir desse dia o Capitão ficara com a impressão de que Vala desconfiava dele e procurava
mesmo evitá-lo.
pag. 18
Caisley não se limitara a sublinhar o nome de Louki. Sempre que "o moreno do casaco de camurça" era mencionado no caderno, havia dois traços a lápis azul. Tudo isto
intrigara sobremaneira Bowing e levara-o a rondar pela rue Saint-Benoít nos dias que se seguiram, na esperança de dar de caras com o pretenso editor de arte, em
La Malène ou no Montana, a fim de lhe pedir explicações. Não voltara a encontrá-lo. Ele próprio tivera de abandonar França algum tempo mais tarde e deixara-me o
caderno, como se quisesse que eu prosseguisse a investigação. Mas agora é demasiado tarde. E depois, se todo este período por vezes se reaviva na minha memória,
é por causa das perguntas que não obtiveram resposta.
Nas horas mortas do dia, ao regressar do escritório, e muitas vezes na solidão dos domingos à noite, ocorre-me um pormenor. Com a máxima atenção, procuro reunir
outros e apontá-los no fim do caderno de Bowing, nas páginas que ficaram em branco. Também vou à procura dos pontos fixos. Trata-se de um passatempo, como outros
fazem palavras cruzadas ou charadas. Os nomes e as datas do caderno de Bowing ajudam-me muito, evocam de tempos em tempos um facto preciso, uma tarde de chuva ou
de sol. Sempre fui muito sensível às estações do ano. Certa noite, Louki entrou no Condé de cabelo a escorrer por causa de um aguaceiro ou das chuvas intermináveis
de Novembro ou do início da Primavera. Nesse dia, era Mme Chadly que se encontrava ao balcão. Subiu ao primeiro andar, ao seu minúsculo apartamento, e regressou
com uma toalha de banho. Como o caderno indica, encontravam-se reunidos à mesma mesa, nessa noite, Zacharias, Annet, Don Carlos, Mireille, la Houpa, Fred e Maurice
Raphael. Zacharias apoderou-se da toalha e esfregou a cabeleira de Louki, antes de lha enrolar em turbante à volta da cabeça.
pag. 19
Sentou-se à mesa do grupo, obrigaram-na a beber um grogue, e Louki ficou até tarde com eles, de turbante na cabeça. À saída do Condé, pelas duas horas da madrugada,
ainda chovia. Comprimimo-nos no vão da entrada e Louki continuava de turbante. Mme Chadly apagara a luz da sala e fora deitar-se. Abriu a janela da sobreloja e convidou-nos
a subir e a aguardar em casa dela. Mas Maurice Raphael respondeu-lhe, muito galante: "Nem pense nisso, madame... Temos de deixá-la dormir..." Era um belo homem moreno,
mais velho do que nós, um cliente assíduo do Condé a quem Zacharias chamava "o Jaguar" por causa do andar e dos gestos felinos. Publicara vários livros, como Adamov
e Larronde, mas nunca falávamos do assunto. Pairava um mistério em volta deste homem e acreditávamos mesmo que tivesse ligações com o mundo do crime organizado.
A chuva redobrou de intensidade, uma chuva de monção, mas para os outros não era grave, visto que viviam no bairro. Em breve, eu, Louki e Maurice Raphael éramos
os únicos a permanecer abrigados. "Posso levá-los de automóvel?" propôs Maurice Raphael. Corremos à chuva até ao fundo da rua, onde se encontrava estacionada a viatura,
um velho Ford preto. Louki sentou-se ao lado do condutor e eu no banco de trás. "Quem é o primeiro a sair?" perguntou Maurice Raphael. Louki indicou a rua onde morava,
explicando que ficava para lá do cemitério de Montparnasse. "Então, vive nos limbos", observou ele. E creio que nenhum de nós compreendeu o que significava "os limbos".
Pedi-lhe que me deixasse bastante depois do gradeamento do jardim do Luxemburgo, na esquina da rue du Val-de-Grâce. Não queria que ele soubesse exactamente onde
eu morava, receando que me fizesse perguntas.
Apertei a mão a Louki e a Maurice Raphael, pensando que nenhum deles sabia o meu nome.
pag. 20
Eu era um cliente muito discreto do Condé e mantinha-me um pouco afastado, contentando-me em ouvi-los. E bastava. Sentia-me bem com eles. O Condé representava, para
mim, um refúgio contra tudo o que previa da monotonia da vida. Havia uma parte de mim mesmo - a melhor - que um dia seria obrigado a lá deixar.
- Tem razão em viver no bairro do Val-de-Grâce - disse-me Maurice Raphael.
Sorria e aquele sorriso parecia exprimir gentileza e ao mesmo tempo ironia.
- Até breve - disse Louki.
Saí do automóvel e esperei que ele desaparecesse, mais adiante, em direcção a Port-Royal, para retroceder caminho. Na verdade, não morava propriamente em Val-de-Grâce,
mas um pouco mais abaixo, no número 85 do boulevard Saint-Michel, onde, por milagre, encontrara um quarto à chegada a Paris. Da janela, via a fachada escura da minha
escola. Naquela noite, custava-me desviar o olhar daquela fachada monumental e da grande escadaria de pedra da entrada. Que pensariam eles se soubessem que quase
todos os dias subia aquela escada e que era aluno da Escola Superior de Minas? Zacharias, la Houpa, Ali Cherif ou Don Carlos sabiam ao certo o que era a Escola Superior
de Minas? Teria de guardar segredo ou arriscar-me-ia a que troçassem ou desconfiassem de mim. Que representava para Adamov, Larronde ou Maurice Raphael a Escola
de Minas? Nada, sem dúvida. Aconselhar-me-iam a não continuar a frequentar tal sítio. Se passava muito tempo no Condé, é porque queria ouvir esse conselho, de uma
vez por todas. Louki e Maurice Raphael já deviam ter chegado ao outro lado do cemitério de Montparnasse, à zona a que ele chamara "os limbos". E eu deixei-me ficar
às escuras, de pé, encostado à janela, a contemplar a fachada escura. Dir-se-ia que era a gare desactivada de uma cidade de província.
pag. 21
Nas paredes do edifício contíguo, viam-se marcas de balas, como se ali tivessem fuzilado alguém. Repetia em voz baixa as quatro palavras que me pareciam cada vez
mais insólitas: ESCOLA SUPERIOR DE MINAS.
pag. 22
Tive a sorte de deparar com aquele jovem como vizinho de mesa no Condé e de iniciarmos uma conversa da forma mais natural. Era a primeira vez que eu entrava no café
e tinha idade para ser pai dele. O caderno em que assentara dia após dia, noite após noite, nos últimos três anos, os clientes do Condé facilitou-me a tarefa. Lamento
ter-lhe ocultado a razão exacta pela qual quis consultar o documento que teve a amabilidade de me facultar. Mas será que lhe menti quando lhe disse ser editor de
arte?
Apercebi-me de que acreditara. É a vantagem de ter mais vinte anos do que os outros: ignoram o nosso passado. E mesmo quando nos fazem distraidamente algumas perguntas
sobre o que foi a nossa vida até então, podemos inventar. Uma nova vida. Eles não irão verificar. À medida que relatamos esta vida imaginária, intensas lufadas de
ar fresco atravessam um local fechado onde há muito sufocamos. Abre-se bruscamente uma janela, as persianas batem com o vento forte. Temos, de novo, o futuro à nossa
frente.
Editor de arte. Ocorreu-me sem pensar. Se me tivessem perguntado, há mais de vinte anos, a que me destinava, teria balbuciado: editor de arte. Pois bem, disse-o
hoje. Nada mudou. Todos estes anos foram abolidos.
pag. 23
Mas não fiz inteiramente tábua rasa do passado. Restam algumas testemunhas, alguns sobreviventes entre os que foram nossos contemporâneos. Certo dia, no Montana,
perguntei ao Dr. Vala a sua data de nascimento. Nascemos no mesmo ano. E recordei-lhe que nos tínhamos encontrado outrora, naquele mesmo bar, quando o bairro ainda
se encontrava no auge do seu esplendor. Além disso, parecia-me ter-me cruzado com ele muito antes, noutros bairros de Paris, na Margem Direita. Tinha mesmo a certeza.
Vala pediu, numa voz seca, um quarto de litro de água de Vittel, cortando-me a palavra no momento em que me preparava para evocar más recordações. Calei-me. Vivemos
à mercê de certos silêncios. Sabemos muitas coisas uns dos outros. Portanto, procuramos evitar-nos. O melhor, como é evidente, é perdermo-nos definitivamente de
vista.
Estranha coincidência... Voltei a encontrar Vala na tarde em que transpus, pela primeira vez, a porta do Condé. Estava sentado a uma mesa do fundo com dois ou três
jovens. Lançou-me o olhar inquieto do bon vivant na presença de um espectro. Sorri-lhe. Apertei-lhe a mão sem dizer nada. Senti que a mínima palavra da minha parte
corria o risco de o deixar pouco à vontade face aos novos amigos. Pareceu aliviado com o meu silêncio e a minha discrição quando me sentei no banco de estofo sintético,
na outra extremidade da sala. Dali, podia observá-lo sem que os nossos olhares se cruzassem. Vala falava em voz baixa, debruçando-se sobre os companheiros. Recearia
que eu o ouvisse? Então, para passar o tempo, imaginei todas as frases que eu teria proferido num tom falsamente mundano e que lhe teriam perlado a fronte de gotas
de suor. "Ainda é médico?" E após uma breve pausa: "Continua a exercer no quai Louis-Blériot? A não ser que mantenha o consultório na rue de Moscou... E a passagem
por Fresnes, já há tanto tempo, espero que não tenha tido consequências demasiado pesadas..."
pag. 24
Estive quase a dar uma gargalhada, ali, sozinho no meu canto. Não envelhecemos. Com o passar dos anos, muitas pessoas e coisas acabam por nos parecer tão cómicas
e irrisórias que lhes lançamos um olhar infantil.
Nessa primeira vez, esperei durante muito tempo no Condé. Ela não apareceu. Precisava de ter paciência. Ficava para outro dia. Observei os clientes. A maior parte
não tinha mais de vinte e cinco anos e um romancista do século XIX teria evocado, a esse respeito, a "boémia estudantil". Mas muito poucos daqueles jovens, em minha
opinião, estavam inscritos na Sorbonne ou na Escola de Minas. Devo confessar que, examinando-os de perto, o seu futuro me inquietava.
Entraram dois homens, num intervalo muito curto. Adamov e o tipo moreno de andar ligeiro que publicara alguns livros sob o pseudónimo de Maurice Raphael. Eu conhecia
Adamov de vista. Dantes, estava quase todos os dias no Old Navy e era impossível esquecer o seu olhar. Creio que cheguei a prestar-lhe um favor para regularizar
a sua situação, no tempo em que ainda tinha alguns contactos nos Serviços da Direcção-Geral da Segurança. Quanto a Maurice Raphael, também era cliente dos bares
do bairro. Constava que tivera problemas depois da guerra, sob outro nome. Nesse tempo, eu trabalhava para Blémant. Encostaram-se os dois ao balcão. Maurice Raphael
estava de pé, muito direito, e Adamov subira para um banco alto esboçando um esgar de dor. Não se apercebera da minha presença. De resto, será que o meu rosto ainda
lhe lembraria alguma coisa? Três jovens, entre os quais uma rapariga loura que vestia um impermeável coçado e usava franja, juntaram-se-lhes ao balcão.
pag. 25
Maurice Raphael estendeu-lhes um maço de cigarros e dirigiu-lhes um sorriso divertido. Adamov, por seu lado, mostrava-se menos familiar. Dir-se-ia, em virtude do
seu olhar intenso, que os jovens o assustavam vagamente.
Eu tinha no bolso duas fotos instantâneas dessa tal Jacqueline Delanque... No tempo em que trabalhava para Blémant, este surpreendia-se com a minha facilidade em
identificar fosse quem fosse. Bastava-me cruzar-me uma única vez com um rosto para o gravar na memória, e Blémant gracejava com este meu dom de reconhecer imediatamente
uma pessoa ao longe, estivesse ela de três quartos ou mesmo de costas. Por isso, não me sentia nada preocupado. Mal entrasse no Condé, saberia que era ela.
O Dr. Vala virou-se na direcção do balcão e os nossos olhares cruzaram-se. Esboçou um gesto amigável com a mão. De repente, senti vontade de avançar até à sua mesa
e de lhe dizer que tinha uma pergunta confidencial a fazer-lhe. Arrastava-o para um canto e mostrava-lhe as fotos: "Conhece?" Na verdade, ter-me-ia sido útil saber
um pouco mais sobre aquela rapariga por um dos clientes do Condé.
Logo que tomei conhecimento do endereço do hotel, dirigi-me para lá. Escolhera uma hora morta da tarde. Era mais provável que estivesse ausente. Pelo menos, assim
o esperava. Poderia fazer algumas perguntas a seu respeito na recepção. Estava um dia de sol de Outono e decidira fazer o trajecto a pé. Partira dos cais e penetrava
lentamente em direcção ao interior. Na rue du Cherche-Midi, o sol batia-me nos olhos. Entrei no Chien qui Fume e pedi um cognac. Sentia-me ansioso. Contemplava,
através da janela, a avenue du Maine. Pelo passeio do lado esquerdo, chegaria ao fim. Nenhuma razão para estar ansioso.
pag. 26
À medida que seguia pela avenida, retomava a calma. Estava quase certo da sua ausência e, de resto, desta vez não entraria no hotel para fazer perguntas. Rondaria
por aquelas paragens, como para me referenciar. Tinha todo o tempo à minha frente. Era pago para aquilo.
Quando cheguei à rue Cels, decidi certificar-me. Uma rua calma e monótona, que me recordou não uma aldeia ou uns subúrbios mas essas zonas misteriosas conhecidas
por "interior". Dirigi-me directamente à recepção do hotel. Ninguém. Aguardei cerca de dez minutos na esperança de que ela não aparecesse. Abriu-se uma porta, uma
mulher morena de cabelo curto, toda vestida de preto, abeirou-se do balcão da recepção. Declarei numa voz delicada:
- Venho por causa de Jacqueline Delanque.
Pensei que ela se tivesse inscrito com o nome de solteira. A mulher sorriu-me e retirou um envelope de um dos cacifos atrás dela.
- É monsieur Roland?
Quem seria aquele tipo? Esbocei de imediato um vago assentimento com a cabeça. A mulher estendeu-me o envelope no qual estava escrito a tinta azul: Para Roland.
O envelope não se encontrava fechado. Numa grande folha de papel, li:
Roland, procura-me a partir das 5 horas no Condé. Senão, telefona-me para AUT(EUIL) 15-28 e deixa-me um recado.
Assinava Louki. Diminutivo de Jacqueline? Voltei a dobrar a folha e introduzi-a no envelope que devolvi à mulher morena.
- Peço desculpa... Houve uma confusão... Não é para mim.
pag. 27
Ela não respondeu e arrumou a carta no cacifo com um gesto maquinal.
- Jacqueline Delanque está cá há muito tempo?
A mulher hesitou um instante antes de me responder num tom afável:
- Há cerca de um mês.
- Sozinha?
- Sim.
Sentia-a indiferente e pronta para responder a todas as minhas perguntas. Pousava sobre mim um olhar de grande lassidão.
- Muito obrigado - disse eu.
- Não tem de quê.
Preferia não me demorar. O tal Roland podia chegar a qualquer momento. Retomei a avenue du Maine e percorri-a no sentido inverso. No Chien qui Fume pedi mais um
cognac. Na lista telefónica, procurei o endereço do Condé. Ficava perto do Odéon. Quatro horas da tarde. Tinha algum tempo à minha frente. Então, telefonei para
AUT(EUIL) 15-28. Uma voz seca recordou-me a de um serviço de informação horária: "Fala da garagem La Fontaine... Em que posso ser útil?" Perguntei por Jacqueline
Delanque. "Ausentou-se por alguns momentos... Quer deixar recado?" Estive tentado a desligar, mas fiz um esforço e respondi: "Não, não. Obrigado."
Em primeiro lugar, determinar com a maior exactidão possível os itinerários que as pessoas seguem, para as compreender melhor. Repetia em voz baixa: "Hotel da rue
Cels. Garagem La Fontaine. Café Condé. Louki". E depois, a zona de Neuilly entre o bois de Boulogne e o Sena, onde aquele tipo marcara encontro comigo para me falar
da mulher, a denominada Jacqueline Choureau, Delanque de seu nome de solteira.
pag. 28
Já não sei quem o aconselhara a dirigir-se a mim. Pouco importa. Descobrira com certeza o meu endereço na lista telefónica. Eu apanhara o metro muito antes da hora
marcada para o encontro. A linha era directa. Saíra em Sablons e caminhara durante meia hora por aquelas paragens. Estava habituado a proceder ao reconhecimento
do local antes de entrar directamente no assunto. Dantes, Blémant censurava-me pelo que considerava ser uma perda de tempo. Lançar-me à água, dizia-me ele, em vez
de dar voltas ao rebordo da piscina. Mas eu pensava o contrário. Nada de gestos bruscos, antes a passividade e a lentidão com as quais nos deixamos penetrar serenamente
pelo espírito do sítio.
Pairava no ar um odor a Outono e a campo. Seguia pela avenida que contornava o Jardin d'Acclimatation, mas do lado esquerdo, o do arvoredo e da passagem para cavaleiros,
e desejei que se tratasse de um simples passeio.
Jean-Pierre Choureau telefonara-me numa voz átona para marcarmos um encontro. Dera-me simplesmente a entender que se tratava da mulher. À medida que me aproximava
do seu domicílio, via-o caminhar, como eu, ao longo da alameda para os cavalos e ultrapassar o picadeiro do Jardin d'Acclimatation. Que idade teria? O timbre da
voz parecera-me juvenil, mas as vozes são sempre enganadoras.
Para que drama ou inferno conjugal me arrastaria? Sentia-me dominar pelo desânimo e já não estava certo de querer comparecer ao encontro. Embrenhava-me no Bois em
direcção ao lago de Saint-James e ao pequeno lago frequentado pelos patinadores durante o Inverno. Era a única pessoa que por ali andava a passear e tinha a impressão
de estar longe de Paris, algures na Sologne. Mais uma vez, consegui superar o desânimo.
pag. 29
Uma vaga curiosidade profissional levou-me a interromper o passeio pelo bosque e a regressar às proximidades de Neuilly. A Sologne. Neuilly. Imaginava longas tardes
chuvosas para os Choureau, em Neuilly. E lá longe, na Sologne, ouviam-se as buzinas de caça, ao crepúsculo. Será que a mulher montava à amazona? Dei uma gargalhada
ao recordar a observação de Blémant: "Você anda muito depressa, Caisley. Devia escrever romances."
O homem morava mesmo ao fundo, na porte de Madrid, um prédio moderno com uma ampla entrada envidraçada. Dissera-me que fosse até ao fundo do hall, do lado esquerdo.
Veria o seu nome na porta. "É um apartamento no rés-do-chão." Surpreendera-me a tristeza com que proferira "rés-do-chão". Seguido de um longo silêncio, como se se
arrependesse do desabafo.
- É o endereço exacto? - indagara eu.
- No número 11 da avenue de Bretteville. Tomou nota? Número 11... Às quatro horas, convém-lhe?
A voz tornara-se mais forte, adquirira uma intonação quase mundana.
Uma pequena placa dourada na porta: Jean-Pierre Choureau, por baixo da qual se via um pequeno orifício munido de uma lente. Toquei. Aguardei. Naquele hall deserto
e silencioso, disse para comigo que chegara demasiado tarde. O homem suicidara-se. Envergonhei-me deste pensamento e acometeu-me de novo a vontade de desistir de
tudo, de sair daquele hall e de prosseguir o meu passeio ao ar livre, pela Sologne... Toquei mais uma vez, desta feita três leves batidas. A porta abriu-se imediatamente,
como se o homem estivesse atrás da porta, a espreitar-me através do óculo.
pag. 30
Um homem moreno de cerca de quarenta anos, de cabelo curto, muito mais alto do que a média. Vestia um fato azul-escuro e uma camisa azul-celeste de colarinho desabotoado.
Conduziu-me, sem uma palavra, ao que podia chamar-se a sala de estar. Apontou para um sofá, por trás de uma mesa de centro, e sentámo-nos lado a lado. Custava-lhe
falar. Para o descontrair, disse-lhe, no tom de voz mais suave que pude: "Então, trata-se da sua mulher?"
Procurou exprimir-se de forma natural. Dirigiu-me um sorriso ténue. Sim, a mulher desaparecera há dois meses, em consequência de uma discussão banal. Era eu a primeira
pessoa com quem falava depois do desaparecimento da mulher? A persiana de ferro de uma das janelas encontrava-se descida, e perguntei-me se o homem estaria enclausurado
no apartamento há dois meses. Mas, à excepção da persiana, nenhuma marca de desordem ou negligência na sala de estar. Ele próprio, após um momento de hesitação,
retomou uma certa segurança.
- Pretendo que a situação seja esclarecida rapidamente - acabou por me dizer.
Observei-o mais de perto. Olhos muito claros encimados por sobrancelhas pretas, maçãs do rosto salientes, um perfil agradável. E na postura e nos gestos, um vigor
desportivo acentuado pelo cabelo curto. Imaginava-o facilmente a bordo de um veleiro, de tronco nu, navegador solitário. E não obstante aparentar tanta firmeza e
sedução, a mulher abandonara-o.
Quis saber se durante todo aquele tempo, fizera alguma tentativa para a encontrar. Não. Ela telefonara-lhe três ou quatro vezes para confirmar que não regressaria.
Desaconselhava-o muito seriamente a procurar retomar o contacto com ela e não lhe fornecia nenhuma explicação. A mulher mudara de voz. Já não era a mesma pessoa.
Uma voz muito calma, muito segura que o deixava deveras desconcertado.
pag. 31
Ele e a mulher tinham quase quinze anos de diferença. Ela, vinte e dois. Ele, trinta e seis. À medida que me transmitia estes pormenores, eu adivinhava nele uma
reserva, e mesmo uma frieza que era com certeza fruto do que se chama uma boa educação. Agora, teria de lhe fazer perguntas cada vez mais específicas e já não sabia
se valeria a pena. Que queria ele exactamente? Que a mulher regressasse? Ou, muito simplesmente, procurava compreender por que razão o abandonara? Talvez isso lhe
bastasse? Além do sofá e da mesa de centro, nenhum móvel na sala de estar. As janelas envidraçadas davam para a avenida, onde circulavam poucos automóveis, de tal
modo que o facto de o apartamento ser no rés-do-chão não se tornava incomodativo. Anoitecia. O homem acendeu o candeeiro de pé alto e quebra-luz vermelho que se
encontrava ao lado do sofá, à minha direita. A luz obrigou-me a piscar os olhos, uma luz branca que tornava o silêncio ainda mais pesado. Creio que o homem esperava
pelas minhas perguntas. Cruzara as pernas. Para ganhar tempo, retirei do bolso interior do casaco o meu caderno de espiral e uma esferográfica e tomei algumas notas.
"Ele, 36 anos. Ela, 22. Neuilly. Apartamento no rés-do-chão. Ausência de mobiliário. Janelas envidraçadas que dão para a avenue de Bretteville. Pouco trânsito. Algumas
revistas em cima da mesa de centro." O homem aguardava calado, como se eu fosse um médico a passar uma receita.
- Nome de solteira da sua mulher?
- Delanque. Jacqueline Delanque.
Pedi-lhe a data e a naturalidade da tal Jacqueline Delanque. E também a data do casamento. Possuía carta de condução? Emprego? Não. Ainda tinha família? Em Paris?
Na província? Um livro de cheques? À medida que me respondia numa voz triste, eu apontava todos estes pormenores, os únicos que, muitas vezes, testemunham a passagem
de um ser por este mundo.
pag. 32
Desde que seja encontrado, um dia, o caderno de espiral onde alguém os apontou numa letra miudinha dificilmente legível, como a minha.
Agora, teria de passar a perguntas mais delicadas, daquelas que entram na intimidade de uma pessoa sem pedir licença. Com que direito?
- O senhor tem amigos?
Sim, algumas pessoas com quem se encontrava regularmente. Conhecera-as numa escola de comércio. Algumas eram antigos colegas do liceu Jean-Baptiste-Say.
Chegara a tentar montar uma empresa com três destes amigos antes de começar a trabalhar para a sociedade imobiliária Zannetacci na qualidade de sócio-gerente.
- Ainda lá trabalha?
- Sim. No número 20 da rue de la Paix.
Que meio de transporte usava para se deslocar até ao emprego? Cada pormenor, por muito fútil que aparentemente seja, é revelador. O automóvel. De vez em quando,
fazia viagens por conta da Zannetacci. Lyon. Bordéus. Cote d'Azur. Genebra. E Jacqueline Choureau, Delanque em solteira, ficava sozinha em Neuilly? Levara-a algumas
vezes, por ocasião dessas deslocações, à Cote d'Azur. E quando ficava sozinha, como ocupava os tempos livres? Não havia realmente ninguém susceptível de lhe fornecer
informações respeitantes ao desaparecimento de Jacqueline Choureau, Delanque em solteira, nem de lhe dar o mínimo indício? "Não sei bem, enfim, uma confidência feita
num dia de tédio..." Não. Ela nunca teria desabafado com ninguém. Costumava criticar a falta de imaginação dos amigos do marido. Importa recordar que tinha menos
quinze anos que todos eles.
Chegara o momento da pergunta que me deixava sempre
pag. 33
antecipadamente acabrunhado, mas que era obrigado a formular:
- Acredita que pudesse ter um amante?
O tom da minha voz pareceu-me algo brutal ou mesmo estúpido. Mas era assim. O homem franziu o sobrolho.
- Não.
Hesitou, fitava-me nos olhos como se esperasse um incentivo da minha parte ou procurasse as palavras certas. Uma noite, um dos antigos colegas da escola comercial
fora jantar ali a casa com um certo Guy de Vere, um homem mais velho do que eles. Esse tal Guy de Vere era versado em ciências ocultas e oferecera-se para lhes emprestar
algumas obras sobre o assunto. Jacqueline assistira a várias reuniões e mesmo a uma espécie de conferências que Guy de Vere dava regularmente. Ele nunca a acompanhara
por causa do excesso de trabalho na Zannetacci. A mulher manifestava interesse por essas reuniões e conferências e falava-lhe muitas vezes do assunto, sem que ele
compreendesse muito bem do que se tratava. Entre os livros que Guy de Vere lhe aconselhara, Jacqueline recomendara-lhe um, o que lhe parecera mais fácil de ler.
Chamava-se Horizonte Perdido. Entrara em contacto com Guy de Vere depois do desaparecimento da mulher? Sim, telefonara-lhe várias vezes, mas ele não estava ao corrente
de nada. "Tem a certeza?" Encolheu os ombros e dirigiu-me um olhar cansado. O tal Guy de Vere fora muito evasivo e o meu cliente compreendera que não obteria nenhuma
informação. O nome exacto e endereço desse homem? Ignorava o endereço. Não figurava na lista telefónica.
Procurei outras perguntas que pudesse fazer-lhe. Instalou-se entre nós um silêncio que não pareceu incomodá-lo. Sentados lado a lado no sofá, encontrávamo-nos na
sala de espera de um dentista ou de um médico. Paredes brancas e nuas.
pag. 34
Um retrato de mulher pendurado por cima do sofá. Estive quase a pegar numa das revistas que se encontravam em cima da mesa de centro. Apoderou-se de mim uma sensação
de vazio. Devo dizer que, nesse momento, senti a ausência de Jacqueline Choureau, Delanque em solteira, ao ponto de me parecer definitiva. Mas não podia ser pessimista
logo à partida. Além disso, não daria aquela sala de estar a mesma impressão de vazio, quando a mulher estava presente? Jantavam ali? Nesse caso, devia ser numa
mesa de jogo desmontável, que abriam e voltavam a fechar. Quis saber se Jacqueline partira de repente, deixando para trás alguns haveres. Não. Levara toda a roupa
e os livros que Guy de Vere lhe emprestara, tudo numa mala de cabedal grená. Não deixara o mínimo rasto. Mesmo as fotos em que figurava - raras fotos de férias -
tinham desaparecido. Às vezes, sozinho no apartamento, perguntava-se se alguma vez fora casado com essa tal Jacqueline Delanque. A única prova de que nada daquilo
era um sonho constava do livrete de família que lhe fora entregue depois do casamento. Livrete de família. Repetiu as palavras, como se não compreendesse o que significavam.
Era inútil visitar os outros compartimentos. Quartos vazios. Armários vazios. E o silêncio, ligeiramente perturbado pela passagem de uma viatura na avenue de Bretteville.
Os serões deviam ser longos.
- Ela levou a chave de casa?
O homem acenou negativamente com a cabeça. Nem sequer a esperança de ouvir, de noite, o barulho da chave na fechadura, anunciando o seu regresso. E não acreditava
que ela voltasse a telefonar.
- Como se conheceram? Jacqueline fora contratada pela Zannetacci para substituir uma funcionária. Um serviço temporário de secretariado.
pag. 35
Ele ditara-lhe algumas cartas dirigidas a clientes e assim tinham travado conhecimento. Encontraram-se fora das horas de serviço. Ela dissera-lhe que frequentava
a Escola de Línguas Orientais, onde assistia às aulas duas vezes por semana, mas ele nunca chegara a saber de que língua se tratava exactamente. Línguas asiáticas,
dizia ela. E, ao cabo de dois meses, tinham-se casado num sábado de manhã no Registo Civil de Neuilly, apresentando como testemunhas dois colegas da Zannetacci.
Mais ninguém assistira ao que, para ele, representara uma simples formalidade. Tinham ido almoçar com as testemunhas perto de casa, nas imediações do bois de Boulogne,
num restaurante frequentado pelos clientes dos picadeiros vizinhos.
Lançou-me um olhar embaraçado. Aparentemente, gostaria de me fornecer informações mais pormenorizadas sobre o casamento. Sorri. Não precisava de explicações. O homem
fez um esforço e, como quem se lança à água:
- Procuramos criar laços, compreende...
Com certeza, compreendia. Nesta vida que se nos afigura por vezes como um vasto terreno deserto sem marcos de informação, no meio das linhas de fuga e dos horizontes
perdidos, gostaríamos de encontrar pontos de referência, de estabelecer uma espécie de cadastro para iludir a impressão de navegar ao acaso. Então, tecemos laços,
procuramos tornar mais estáveis encontros ocasionais. Calei-me, de olhos fixos na pilha das revistas. No meio da mesa de centro, um grande cinzeiro amarelo que continha
a inscrição: Cinzano. E um livro encadernado cujo título era: Adieu Focolara(1) Zannetacci. Jean-Pierre Choureau. Cinzano. Jacqueline Delanque. Registo Civil de
Neuilly. Focolara. E urgia descobrir um sentido para tudo isto...
_________
1. Autor: Jean de Beaumont, com Louise de Vilmorin. (N. da T.)
pag. 36
- E depois, era uma pessoa encantadora... Apaixonei-me imediatamente por ela...
Mal acabou de proferir esta confidência em voz baixa, pareceu arrepender-se. Nos dias que antecederam o seu desaparecimento, sentira alguma coisa de especial em
Jacqueline? Sim, na verdade, a mulher criticava-o cada vez mais sobre aspectos da vida quotidiana. Não era aquela, dizia ela, a verdadeira vida. E quando ele lhe
perguntava em que consistia ao certo a VERDADEIRA VIDA, Jacqueline encolhia os ombros sem responder, como se soubesse que ele não compreenderia nada das explicações
que lhe desse. E depois recuperava o sorriso e a gentileza e quase se desculpava do seu mau humor. Assumia um ar resignado e acrescentava que, no fundo, não era
grave. Talvez um dia ele viesse a compreender o que era a VERDADEIRA VIDA.
- Então não tem nenhuma fotografia dela?
Certa tarde, foram passear à beira do Sena. Tencionava apanhar o metro em Châtelet a fim de ir trabalhar. No boulevard du Palais, passaram por uma cabina de fotos
instantâneas. Jacqueline precisava de fotografias para um novo passaporte. Ele esperara-a no passeio. À saída, Jacqueline confiara-lhe as fotografias dizendo que
receava perdê-las. De regresso ao escritório, guardara as fotografias num envelope e esquecera-se de as levar para Neuilly. Depois do desaparecimento da mulher,
apercebera-se de que o envelope continuava em cima da secretária, no meio de documentos administrativos.
- Espera um segundo?
Deixou-me sozinho no sofá. Anoitecera. Olhei para o relógio e surpreendeu-me reparar que os ponteiros marcavam apenas seis horas menos um quarto. Tinha a impressão
de já ali me encontrar há muito mais tempo.
pag. 37
Duas fotos num envelope cinzento onde se lia, à esquerda: "Imobiliária Zannetacci (França), 20, me de la Paix, Paris 1." Uma fotografia de frente e a outra de perfil,
como a prefeitura de polícia exigia, dantes, aos estrangeiros. Todavia, o apelido, Delanque, e o nome próprio, Jacqueline, eram bem franceses. Duas fotos que eu
segurava entre o polegar e o indicador e que contemplei em silêncio. Cabeleira negra, olhos claros e um desses perfis tão bem delineados que conferem encanto mesmo
às fotos antropométricas. E aquelas exibiam bem a monotonia e a frieza das fotos antropométricas.
- Confia-mas durante uns tempos? - perguntei eu.
- Com certeza.
Guardei o envelope num bolso do casaco.
Chega sempre o momento em que já não devemos ouvir mais ninguém. Ele, Jean-Pierre Choureau, que sabia ao certo sobre Jacqueline Delanque? Pouca coisa. Tinham vivido
juntos apenas um ano, naquele rés-do-chão de Neuilly. Sentavam-se um ao lado do outro no sofá, jantavam frente a frente e, às vezes, com os antigos amigos da escola
comercial e do liceu Jean-Baptiste-Say. Seria o suficiente para adivinhar tudo o que se passa na cabeça de alguém? Jacqueline ainda teria contacto com membros da
sua família? Envidei um derradeiro esforço para lhe fazer a pergunta.
- Não. Já não tinha parentes.
Levantei-me. O homem lançou-me um olhar preocupado. Continuava sentado no sofá.
- São horas de me ir embora - disse-lhe. - Já é tarde. Sorri-lhe, mas ele mostrou-se verdadeiramente surpreendido por me dispor a deixá-lo.
- Telefonar-lhe-ei tão depressa quanto possa - declarei. - Espero poder dar-lhe notícias em breve.
O meu cliente levantou-se por sua vez, naquele movimento de sonâmbulo com o qual me conduzira à sala de estar. Ocorreu-me uma última pergunta:
- Ela levou dinheiro?
- Não.
- E quando telefonou, depois da fuga, nunca forneceu nenhum pormenor sobre o seu modo de vida?
- Não.
Encaminhava-se para a porta da entrada no seu passo rígido. Seria capaz de continuar a responder às minhas perguntas? Abri a porta. Continuava atrás de mim, hirto.
Ignoro de que espécie de vertigem fui acometido, de que lufada de amargura, mas disse-lhe num tom agressivo:
- Esperava com certeza envelhecer junto dela?
Seria para o despertar do torpor e da prostração em que caíra? O homem arregalou os olhos e encarou-me, receoso. Encontrava-me na ombreira da porta. Aproximei-me
e pousei-lhe a mão no ombro:
- Não hesite em telefonar-me. A qualquer hora.
O semblante do homem descontraiu-se. Ganhou forças para sorrir. Antes de voltar a fechar a porta, saudou-me com um gesto. Permaneci um longo momento no patamar e
as luzes automáticas acabaram por se apagar. Imaginei-o a sentar-se no sofá, no lugar que há pouco ocupara. De forma maquinal, pegava numa das revistas empilhadas
na mesa de centro.
Na rua, já estava escuro. Não me saía da ideia aquele homem no rés-do-chão, à luz crua do candeeiro. Iria comer alguma coisa antes de se deitar? Perguntava a mim
mesmo se ele teria uma cozinha. Devia tê-lo convidado para jantar.
pag. 39
Se não o tivesse interrogado, talvez o homem proferisse uma palavra, um desabafo que me colocasse mais depressa na pista de Jacqueline Delanque. Blémant costumava
dizer que chega sempre o momento em que o interpelado, mesmo o mais obstinado, "desbobina tudo": era a expressão utilizada. Competia-nos aguardar esse momento com
uma paciência extrema, procurando, obviamente, desencadeá-lo, mas de forma quase imperceptível, "em pequenos toques delicados", no entender de Blémant. Importa que
o tipo se sinta em frente de um confessor. É difícil. É o ofício. Chegara à Porte Maillot e apetecia--me caminhar durante mais algum tempo na tepidez da noite. Infelizmente,
os sapatos novos magoavam-me muito no peito do pé. Assim, entrei no primeiro café que encontrei na avenida e escolhi uma das mesas perto da montra envidraçada. Desapertei
os sapatos e descalcei o pé esquerdo, o que me doía mais. Quando o empregado se aproximou, não resisti ao breve instante de alheamento e tranquilidade que me proporcionaria
uma Izarra verde.
Retirei o envelope do bolso e observei demoradamente as duas fotos instantâneas. Onde estaria ela naquele momento? Num café, como eu, sentada sozinha a uma mesa.
A frase que o marido proferira há pouco deixara pairar esta ideia: "Procuramos criar laços..." Encontros numa rua, numa estação de metro à hora de ponta. Nesses
momentos, as pessoas deviam prender-se umas às outras por meio de algemas. Que espécie de laço seria capaz de resistir ao fluxo que nos arrasta e nos obriga a andar
à deriva? Um gabinete anónimo em que se dita uma carta a uma dactilógrafa temporária, um rés-do-chão de Neuilly cujas paredes brancas e nuas recordam o que se chama
"um andar-modelo" e onde não permanecem marcas de passagem... Duas fotos, uma de frente, outra de perfil... E era com aquilo que iam criar laços?
pag. 40
Havia uma pessoa que podia ajudar-me na minha investigação: Bernolle. Não voltara a vê-lo desde o tempo de Blémant, excepto numa tarde, há três anos. Encaminhava-me
para o metro e ia a atravessar o adro de Notre-Dame. Uma espécie de vagabundo saiu do Hospital Hôtel-Dieu e cruzámo-nos. Envergava um impermeável de mangas rotas,
umas calças que mal lhe chegavam aos tornozelos e calçava sandálias velhas. Tinha a barba por fazer e o cabelo preto muito comprido. Ainda assim, reconheci-o. Bernolle.
Segui-o com a intenção de lhe falar. Mas ele caminhava depressa. Transpôs a porta principal da Prefeitura da Polícia. Hesitei alguns momentos. Era demasiado tarde
para o alcançar. Decidi então esperá-lo ali, no passeio. Afinal, tínhamos sido jovens ao mesmo tempo.
Saiu pela mesma porta com um sobretudo azul-escuro, calças de flanela e sapatos pretos de atacadores. Não parecia o mesmo homem. Mostrou-se embaraçado quando o abordei.
Barbeara-se. Caminhámos ao longo do cais sem proferir uma palavra. Mais adiante, depois de nos sentarmos a uma mesa do Soleil d'Or, desabafou comigo. Era requisitado
para serviços de informação, oh, nada de especial, tarefas de reconhecimento e de infiltração em que se vestia de vagabundo para melhor ver e ouvir o que se passava
à volta dele: vigilância em frente de certos prédios, em feiras de velharias, em Pigalle, em volta das gares e mesmo no Quartier Latin. Esboçou um sorriso triste.
Vivia num estúdio do XIVe arrondissement. Deu-me o número de telefone. Nem por um momento aludimos ao passado. Pousara o saco de viagem no banco ao seu lado. Teria
ficado muito surpreendido se eu lhe revelasse o que continha: um impermeável velho, umas calças demasiado curtas, um par de sandálias.
pag. 41
Telefonei-lhe precisamente no dia em que regressei da entrevista em Neuilly. Depois do nosso reencontro, recorrera algumas vezes aos seus serviços para certas informações.
Pedi-lhe que me procurasse alguns detalhes respeitantes a Jacqueline Delanque, casada com Jean-Pierre Choureau. Não tinha muito mais para lhe dizer sobre a personagem,
para além das datas de nascimento e de casamento com o tal Jean-Pierre Choureau, residente no número 11 da avenue de Bretteville, em Neuilly, sócio-gerente da Zannetacci.
Tomou nota. "Mais nada?" Parecia decepcionado. "E nada de cenas de cama quanto a essa gente, imagino", acrescentou ele num tom desdenhoso. A cama. Tentei imaginar
o quarto dos Choureau em Neuilly, um quarto ao qual devia ter lançado uma vista de olhos por consciência profissional. Um quarto para sempre vazio, uma cama da qual
só restava o COLCHÃO.
Nas semanas que se seguiram, Choureau telefonou-me várias vezes. Exprimia-se sempre numa voz átona e eram sempre sete horas da noite. Talvez àquela hora, sozinho
no apartamento, sentisse necessidade de falar com alguém. Eu respondia-lhe que tivesse paciência. Parecia já não acreditar em nada e preparado para, aos poucos,
aceitar o desaparecimento da mulher. Recebi uma carta de Bernolle:
Meu caro Caisley,
Nada quanto ao colchão. Nem a respeito de Choureau nem de Delanque.
Mas o acaso funciona bem: um trabalho fastidioso sobre estatísticas do qual me encarregaram os serviços administrativos dos comissariados do IX.e e XVIII.e arrondissements
permitiu-me encontrar algumas informações.
pag. 42
Deparei duas vezes com "Delanque, Jacqueline, 15 anos". Na primeira vez, no expediente do comissariado do bairro Saint-Georges, há sete anos, e uma segunda vez alguns
meses mais tarde, no expediente das Grandes-Carrières. Motivo: Vagabundagem de menor.
Perguntei a Leoni se haveria alguma coisa a respeito de hotéis. Há dois anos, Jacqueline Delanque hospedou-se no Hotel San Remo, rue d'Armaillé, 8, (XVII.e), e no
Hotel Metrópole, rue de L'Étoile, 13, (XVII.e). Nos expedientes de Saint-Georges e das Grandes-Carrières ficou registado que Jacqueline vivia em casa da mãe, no
número 10 da avenue Rachel (XVIII.e).
Habita abitualmente no Hotel Savoie, rue Cels, 8, no XIV.e arrondissement. A mãe faleceu há quatro anos. Na certidão de nascimento, do Registo Civil de Fontaines-en-Sologne
(Loir-et-Cher), da qual lhe envio uma cópia, está escrito que Jacqueline nasceu de pai incógnito. A mãe trabalhava como arrumadora no Moulin-Rouge e tinha um companheiro,
um tal Guy Lavigne, empregado na garagem La Fontaine, rue de La Fontaine, 98, (XVI.e), e que a ajudava materialmente. Jacqueline Delanque não parece exercer um trabalho
estável.
É tudo, meu caro Caisley, tudo o que recolhi para si. Espero voltar a vê-lo em breve, mas desde que não seja em fato de trabalho. Blémant ter-se-ia divertido muito
com o meu disfarce de vagabundo. Quanto a si, imagino que um pouco menos. E eu absolutamente nada. Bom trabalho,
BERNOLLE
Restava-me telefonar a Jean-Pierre Choureau e comunicar-lhe que o mistério fora desvendado. Procuro lembrar-me em que momento exacto decidi não o fazer. Marcara
os três primeiros algarismos do número de telefone quando desliguei bruscamente.
pag. 43
A perspectiva de regressar àquele rés-do-chão de Neuilly ao fim da tarde, como acontecera na outra vez, e de aguardar junto dele, à luz do candeeiro de quebra-luz
vermelho, o cair do dia, deixava-me destroçado. Desdobrei o velho mapa Taride de Paris, que guardo sempre na minha secretária, ao alcance da mão. De tanto o consultar,
rasgou-se em muitas dobras, mas colei-o sempre com fita adesiva, como quem aplica um penso numa ferida. O Condé. Neuilly. O bairro de L'Étoile. A avenue Rachel.
Pela primeira vez na minha vida profissional, experimentava a necessidade, ao conduzir uma investigação, de caminhar na contracorrente. Sim, percorria, em sentido
inverso, o trajecto que Jacqueline Delanque seguira. Quanto a Jean-Pierre Choureau, deixara de contar. Fora um comparsa e via-o afastar-se para sempre, com uma pasta
preta na mão, em direcção às instalações da Zannetacci. No fundo, a única pessoa interessante era Jacqueline Delanque. Pela minha vida, tinham passado muitas Jacquelines...
Esta seria a última. Apanhei o metro, a linha Norte-Sul, como se dizia, a que ligava a avenue Rachel ao Condé. À medida que as estações se sucediam, eu remontava
no tempo. Desci em Pigalle. Aí, estuguei o passo no passeio central do boulevard. Uma tarde soalheira de Outono em que seria agradável fazer projectos de futuro
e em que a vida teria recomeçado do nada. Afinal, fora naquela zona que começara a sua vida, a de Jacqueline Delanque... Parecia-me ter encontro marcado com ela.
Perto da place Blanche, o meu coração começou a pulsar mais intensamente e sentia-me emocionado e mesmo intimidado. Há muito que não experimentava aquela sensação.
Continuava a caminhar pelo passeio central num passo cada vez mais veloz. Naquele bairro familiar, seria capaz de andar de olhos fechados: o Moulin-Rouge, o Sanglier
Bleu... Quem sabe?
pag. 44
Podia ter-me cruzado com Jacqueline Delanque muito tempo antes, no passeio do lado direito, quando ia encontrar-se com a mãe no Moulin-Rouge, ou no passeio do lado
esquerdo, à hora da saída do liceu Jules-Ferry. Bem, chegara ao meu destino. Esquecera-me do cinema na esquina da avenida. Chamava-se México e o nome não surgira
por acaso. Dava vontade de viajar, de fugir ou de desaparecer... Também me esquecera do silêncio e da calma da avenue Rachel, que conduz ao cemitério, mas ninguém
pensa nisso, no cemitério, toda a gente pensa que ao fundo se encontra o campo, ou mesmo, com um pouco de sorte, um caminho à beira-mar.
Detive-me em frente do número 10 e, após uma breve hesitação, entrei no prédio. Estive tentado a bater à porta envidraçada do porteiro, mas contive-me. Para quê?
Num pequeno cartaz preso a um dos vidros da porta figuravam em letras pretas os nomes dos inquilinos e o respectivo andar. Tirei o meu bloco de notas e a minha esferográfica
do bolso interior do casaco e tomei nota dos nomes:
Deyrlord (Christiane)
Dix (Gisèle)
Dupuy (Marthe)
Esnault (Yvette)
Gravier (Alice)
Manoury (Albine)
Mariska
Van Bosterhaudt (Huguette)
Zazani (Odette)
O nome Delanque (Geneviève) fora riscado e substituído por Van Bosterhaudt (Huguette). A mãe e a filha viviam no quinto andar. Mas, ao guardar o bloco de notas,
sabia que aqueles pormenores não me serviriam de nada.
pag. 45
Na rua, no rés-do-chão do prédio, encontrava-se um homem à entrada de uma loja de tecidos que uma tabuleta indicava chamar-se La Licorne. Ao levantar a cabeça para
o quinto andar, ouvi uma voz esganiçada interpelar-me:
- O senhor procura alguma coisa?
Devia ter-lhe perguntado qualquer coisa sobre Geneviève e Jacqueline Delanque, mas conhecia a resposta, tudo muito superficial, pequenos pormenores de "superfície",
como dizia Blémant, sem nunca penetrar na profundidade das coisas. Bastava ouvir aquela voz esganiçada e olhar para a sua cara de fuinha e para a dureza do olhar:
não, não havia nada a esperar dele, para além das "informações" que um simples delator daria. Ou então, dir-me-ia que não conhecia nem Geneviève nem Jacqueline Delanque.
Apoderou-se de mim uma raiva fria frente àquele cara de doninha. Para mim, talvez representasse bruscamente todas as pretensas testemunhas que interrogara ao longo
das minhas investigações e que nunca tinham compreendido o que viam, por estupidez, malvadez ou indiferença. Caminhei num passo pesado e estaquei à frente do homem.
Eu era vinte centímetros mais alto do que ele e pesava o dobro.
- É proibido olhar para as fachadas dos prédios?
O homem fixou em mim dois olhos duros e receosos. Gostaria de o assustar ainda mais.
E depois, para me acalmar, sentei-me num banco do passeio central, à altura do início da avenida, em frente do cinema México. Descalcei o pé esquerdo.
Sol. Deixei correr o pensamento. Jacqueline Delanque podia contar com a minha discrição, Choureau nunca saberia nada sobre o Hotel Savoie, o Condé, a garagem La
Fontaine e o tal Roland, com certeza o moreno do casaco de camurça mencionado no caderno.
pag. 46
"Louki. Segunda-feira, 12 de Fevereiro, 23 horas." "Louki 28 de Abril, 14 horas. Louki com o moreno do casaco de camurça." Ao longo das páginas do caderno, eu sublinhara
sempre o seu nome a lápis azul, e copiara, em folhas soltas, todas as ocorrências que lhe diziam respeito. Com as datas. E as horas. Mas ela não tinha nenhum motivo
para se inquietar. Eu não voltaria ao Condé. Na verdade, tivera sorte, nas duas ou três vezes em que a esperara a uma das mesas desse café, ela não aparecera. Ter-me-ia
envergonhado por a espiar sem o seu conhecimento, sim, teria vergonha do meu papel. Com que direito entramos por arrombamento na vida das pessoas e que impertinência
esta a de sondar as suas acções e os seus corações - e de lhes pedir contas... A título de quê? Descalçara a peúga e massajava o peito do pé. A dor amainava. Anoiteceu.
Outrora, era àquela hora, julgo eu, que Geneviève partia para trabalhar no Moulin-Rouge. A filha ficava sozinha, no quinto andar. Pelos treze, catorze anos, certa
noite, depois de ver a mãe sair, abandonara o prédio, tendo o cuidado de não despertar a atenção do porteiro. Na rua, não ultrapassara a esquina da avenida. Contentara-se,
nos primeiros tempos, com a sessão das dez horas no cinema México. Seguia-se o regresso ao prédio, subir as escadas sem acender a luz, a porta fechada tão silenciosamente
quanto possível. Uma noite, ao sair do cinema, aventurara-se um pouco mais longe, até à place Blanche. E cada noite um pouco mais adiante. Vagabundagem de menor,
como constava do expediente dos bairros Saint-Georges e Grandes-Carrières, e estas duas últimas palavras lembravam-me um prado ao luar, depois da pont Caulaincourt,
ao fundo, atrás do cemitério, um prado onde finalmente se respirava ar puro. A mãe fora buscá-la à esquadra da polícia. Doravante, uma vez dado o primeiro passo,
ninguém a poderia deter.
pag. 47
Vagabundagem nocturna para oeste, a avaliar pelos raros indícios que Bernolle reunira. Primeiro a zona de l'Étoile e, ainda mais a oeste, Neuilly e o Bois de Boulogne.
Mas porque terá casado com Choureau? E de novo uma fuga, mas desta vez em direcção à Margem Esquerda, como se a travessia do rio a protegesse de um perigo iminente.
Mas não fora aquele casamento igualmente uma protecção? Se tivesse demonstrado paciência suficiente para continuar em Neuilly, toda a gente teria esquecido, com
o tempo, que por detrás de uma Mm.e Jean-Pierre Choureau se escondia uma Jacqueline Delanque cujo nome figurava em duas rusgas feitas pela polícia.
Decididamente, eu ainda estava preso aos meus antigos reflexos profissionais, os que levavam os meus colegas a dizer que, mesmo durante o sono, eu prosseguia as
investigações. Blémant comparava-me ao patife do pós-guerra conhecido pelo "homem que fuma a dormir". Conservava permanentemente na mesa-de-cabeceira um cinzeiro
no qual estava pousado um cigarro aceso. Adormecia por breves períodos e, quando acordava, estendia o braço para o cinzeiro e puxava uma fumaça do cigarro. Fumado
aquele, acendia outro cigarro com um gesto sonâmbulo. Mas de manhã não se lembrava de nada e convencia-se de que tinha dormido profundamente. Também eu, no meu banco,
agora que anoitecera, tinha a impressão de que mergulhara num sonho no qual continuava a perseguir o rasto de Jacqueline Delanque.
Ou antes, sentia a sua presença naquele boulevard cujas luzes brilhavam como sinais, sem que pudesse decifrá-los cabalmente e sem saber do fundo de que anos me eram
dirigidos. E as luzes pareciam-me ainda mais vivas, em virtude da penumbra do passeio central. Vivas e ao mesmo tempo longínquas.
pag. 48
Calçara a peúga, enfiara de novo o pé no sapato esquerdo e levantara-me do banco onde de boa vontade teria passado toda a noite. E caminhava ao longo do passeio
central como ela, aos quinze anos, antes de se fazer notar. Onde e em que momento despertara as atenções?
Jean-Pierre Choureau acabaria por se cansar. Pela minha parte, ainda responderia a alguns telefonemas seus fornecendo-lhe indicações vagas - todas falsas, claro.
Paris é grande e torna-se fácil perder alguém de vista. Quando sentisse que o conduzira a pistas falsas, deixaria de responder aos seus telefonemas. Jacqueline podia
contar comigo. Conceder-lhe-ia tempo suficiente para se instalar definitivamente fora do seu alcance.
Naquele momento, também ela caminhava algures pela cidade. Ou então, encontrava-se sentada a uma mesa do Condé. Mas Jacqueline nada teria a recear. Eu nunca mais
compareceria ao encontro.
pag. 49
Quando tinha quinze anos, davam-me dezanove. E mesmo vinte. Não me chamava Louki, mas Jacqueline. Era ainda mais nova quando aproveitei pela primeira vez a ausência
da minha mãe para sair. Ela ia trabalhar por volta das nove horas da noite e não regressava antes das duas da madrugada. Nessa primeira vez, preparara uma mentira
para o caso de ser surpreendida pelo porteiro na escada. Ter-lhe-ia dito que ia comprar um medicamento à farmácia da place Blanche.
Não voltara ao bairro até à noite em que Roland me levou de táxi a casa do tal amigo de Guy de Vere. Marcáramos encontro com todos os que assistiam habitualmente
às reuniões. Mal nos conhecíamos, eu e Roland, e não me atrevi a contar-lhe nada quando ele mandou parar o táxi na place Blanche. Queria que prosseguíssemos a pé.
Não deve ter-se apercebido da maneira como lhe apertei o braço. Sentia vertigens. Uma impressão de que, se atravessasse a praça, desmaiaria. Tinha medo. Ele, que
me falava tantas vezes do Eterno Retorno, teria compreendido. Sim, para mim, era o recomeço de tudo, como se o encontro com aquelas pessoas não passasse de um pretexto
e Roland tivesse sido encarregado de me reconduzir suavemente ao redil.
pag. 50
Aliviou-me não ter passado em frente do Moulin-Rouge. Todavia, a minha mãe falecera há mais de quatro anos e eu nada tinha a recear. Sempre que me escapava do apartamento,
à noite, na sua ausência, caminhava pelo outro lado do passeio do boulevard, o do IX.e arrondissement. Não havia luzes naquele passeio. O edifício escuro do liceu
Jules-Ferry, seguido das fachadas de prédios cujas janelas se encontravam às escuras, um restaurante, mas dir-se-ia que a sala estava sempre mergulhada na penumbra.
E nunca conseguia deixar de lançar uma vista de olhos ao passeio do outro lado, o do Moulin-Rouge. Quando chegava à altura do Café des Palmiers e desembocava na
place Blanche, não me sentia muito segura. Novamente as luzes. Numa noite em que ia a passar pela farmácia, avistei a minha mãe com outros clientes, atrás da janela.
Pensei que tivesse terminado o trabalho mais cedo do que habitualmente e regressasse ao apartamento. Se corresse, chegaria antes dela. Postei-me na esquina da rue
de Bruxelles para ver que caminho seguiria. Mas a minha mãe atravessara a praça e voltara para o Moulin-Rouge.
Muitas vezes, sentia medo e, para me tranquilizar, apetecia-me ir procurar a minha mãe, mas perturbaria o seu trabalho. Hoje, estou certa de que não se teria zangado,
porque, na noite em que foi buscar-me ao comissariado das Grandes-Carrières, não me dirigiu nenhuma crítica, nenhuma ameaça, nenhuma lição de moral. Caminhámos em
silêncio. A meio da pont Caulaincourt, ouvi-a dizer numa voz descontraída: "pobre pequena", mas perguntei-me se se dirigia a mim ou a ela própria. Esperou que me
despisse e me deitasse para entrar no meu quarto. Sentou-se na cama e permaneceu em silêncio. Eu também. Acabou por sorrir. Disse-me: "Não somos muito faladoras...",
e fixou-me nos olhos. Era a primeira vez que o seu olhar ficava tanto tempo preso ao meu e a primeira vez que me apercebia de que os seus olhos eram muito claros,
cinzentos, ou de um azul deslavado.
pag. 51
Azul acinzentado. Debruçou-se e beijou-me na face, ou antes, senti os seus lábios furtivamente. E aquele olhar sempre fixo em mim, aquele olhar claro e ausente.
Apagou a luz e, antes de fechar a porta, disse-me: "Trata de não voltar a fazer a mesma coisa." Creio que foi a única vez que se estabeleceu um contacto entre nós,
tão breve, tão desajeitado e todavia tão intenso que lamento não ter manifestado, nos meses que se seguiram, um impulso em direcção a ela que tivesse provocado esse
contacto. Mas nós não éramos, nenhuma das duas, pessoas exuberantes. Talvez a minha mãe demonstrasse à minha frente uma atitude aparentemente indiferente por não
alimentar ilusões a meu respeito. Pensava com certeza que não havia grande coisa a esperar, uma vez que eu era parecida com ela.
Mas naquele tempo, nunca me ocorreu tal ideia. Vivia o presente sem me interrogar. Tudo mudou na noite em que Roland me levou àquele bairro que eu evitava. Depois
da morte da minha mãe, nunca mais lá pusera os pés. O táxi enveredou pela rue de la Chaussée-d'Antin e avistei, ao fundo, a massa negra da igreja de La Trinité,
qual águia gigantesca montando guarda. Sentia-me mal. Aproximávamo-nos da fronteira. Disse para comigo que me restava uma esperança. Talvez virássemos para a direita.
Mas não. Seguimos em frente, passámos pela square de la Trinity, subimos a ladeira. No sinal vermelho, antes de chegar à place de Clichy, estive quase a abrir a
porta e fugir. Mas não podia fazer-lhe uma coisa assim.
Só mais tarde, quando seguíamos a pé pela rue des Abbesses em direcção ao prédio em que se realizava o encontro, recuperei a calma. Felizmente, Roland não se apercebera
de nada. Então, lamentei que não tivéssemos caminhado mais tempo, os dois, pelo bairro.
pag. 52
Gostaria de o ter levado e de lhe ter mostrado o local onde ainda vivia seis anos antes, e já parecia há tanto tempo, numa outra vida... Depois da morte da minha
mãe, um único laço me unia àquele período, um tal Guy Lavigne, o companheiro da minha mãe. Compreendera que era ele que pagava a renda do apartamento. Ainda o vejo,
de vez em quando. Trabalha numa garagem, em Auteuil. Mas quase nunca falamos do passado. É tão pouco falador quanto a minha mãe. Quando os polícias me levaram para
a esquadra, fizeram-me perguntas às quais fui obrigada a responder, mas, de início, hesitava tanto que eles me disseram: "Não és muito faladora", como teriam dito
à minha mãe e a Guy Lavigne se alguma vez tivessem caído nas suas mãos. Não estava habituada a que me fizessem perguntas. Surpreendera-me mesmo que se interessassem
pelo meu caso. Na segunda vez, no comissariado das Grandes-Carrières, deparara com um polícia mais simpático do que o anterior e agradou-me a maneira como me interrogou.
Era-me, portanto, permitido desabafar, falar de mim, e havia alguém à minha frente que se interessava pelos meus actos e gestos. Estava tão pouco habituada a esta
situação que não encontrava palavras para responder. Excepto no que dizia respeito às perguntas mais específicas. Por exemplo: Qual foi a sua escolaridade? As freiras
de São Vicente de Paulo da rue Caulaincourt e a escola pública da rue Antoinette. Tive vergonha de lhe dizer que não fora aceite no liceu Jules-Ferry, mas respirei
fundo e acabei por lhe fazer esta confissão. O polícia debruçou-se sobre mim e disse-me numa voz doce, como se quisesse consolar-me: "Quem ficou a perder foi o liceu
Jules-Ferry..." Fiquei tão surpreendida que senti vontade de rir. O polícia sorria-me e olhava-me de frente, um olhar tão claro quanto o da minha mãe, mas mais terno,
mais atento. Também me perguntou qual era a minha situação familiar.
pag. 53
Senti-me à vontade e consegui transmitir-lhe algumas parcas informações: a minha mãe era originária de uma aldeia da Sologne, onde um tal M. Foucret, director do
Moulin-Rouge, tinha uma propriedade. E fora assim que a minha mãe, ainda muito nova quando chegara a Paris, conseguira um emprego no estabelecimento. Eu não sabia
quem era o meu pai. Nascera na Sologne, mas nunca mais lá voltara. Era por isso que a minha mãe me repetia muitas vezes: "Não temos onde nos agarrar..." O polícia
ouvia-me e, de vez em quando, tomava notas. E eu experimentava uma sensação nova: à medida que lhe fornecia estes míseros pormenores, libertava-me de um peso. Eram
coisas que não me diziam respeito, falava de outra pessoa e sentia-me aliviada por ver que o polícia tomava notas. Estar tudo escrito, preto no branco, significava
que tudo chegara ao fim, como nas campas em que estão gravados nomes e datas. E eu falava cada vez mais depressa, atabalhoando as palavras: Moulin-Rouge, a minha
mãe, Guy Lavigne, liceu Jules-Ferry, a Sologne... Nunca falara com ninguém. Que alívio, todas aquelas palavras a sair da minha boca... Era uma parte da minha vida
que chegava ao fim, uma vida que me fora imposta. Doravante, seria eu a dispor do meu destino. Começaria tudo a partir daquele dia e, para que o meu entusiasmo desabrochasse,
seria preferível que o polícia riscasse o que acabara de escrever. Estava disposta a fornecer-lhe outros pormenores e outros nomes e a falar-lhe de uma família imaginária,
uma família tal como a imaginava.
Pelas duas horas da madrugada, a minha mãe foi buscar-me. O polícia disse-lhe que não acontecera nada de grave. Continuava a fitar-me com o seu olhar atento. Vagabundagem
de menor - era o que estava escrito no registo. Na rua, esperava-nos um táxi. Quando o polícia me fizera perguntas sobre a minha escolaridade, esquecera-me de lhe
dizer que, durante alguns meses, frequentara uma escola um pouco mais adiante, no mesmo passeio do comissariado.
pag. 54
Ficava na cantina e a minha mãe ia buscar-me ao fim da tarde. Às vezes atrasava-se e eu esperava, sentada num banco do passeio central. Fora ali que reparara que
a rua tinha um nome diferente de cada lado. E, naquela noite, ela também fora buscar-me, muito perto da escola, mas desta vez ao comissariado. Estranha rua aquela
que tinha dois nomes e parecia querer desempenhar um papel na minha vida...
De vez em quando, a minha mãe lançava olhares inquietos ao contador do táxi. Pediu ao motorista que parasse na esquina da rue Caulaincourt e, quando retirou as moedas
da carteira, compreendi que tinha precisamente o necessário para pagar a corrida. Percorremos o resto do trajecto a pé. Eu caminhava mais depressa do que ela e deixava-a
para trás. Em seguida, parava para nos juntarmos de novo. Na ponte que domina o cemitério e da qual se avista o nosso prédio, mais abaixo, detivemo-nos longamente
e tive a impressão de que a minha mãe recobrava o fôlego. "Andas muito depressa", disse-me ela. Hoje, há um pensamento que me ocorre. Talvez estivesse a tentar arrastá-la
para um pouco mais longe do que a vida estreita que era a dela. Se não tivesse morrido, creio que teria conseguido levá-la a descobrir outros horizontes.
Nos três ou quatro anos que se seguiram, percorri muitas vezes os mesmos itinerários, as mesmas ruas, embora me aventurasse cada vez mais longe. Nos primeiros tempos,
nem sequer alcançava a place Blanche. Pouco mais fazia do que dar a volta ao quarteirão... Primeiro, o minúsculo cinema, à esquina do boulevard, a poucos metros
de casa, onde a sessão começava às dez horas da noite. A sala estava vazia, excepto ao sábado. Os filmes passavam-se em terras longínquas, como o México e o Arizona.
Não prestava nenhuma atenção à intriga, só me interessava pelas paisagens.
pag. 55
À saída, o Arizona e o boulevard de Clichy formavam uma curiosa mistura na minha cabeça. As cores dos anúncios luminosos e das luzes néon eram as mesmas dos filmes:
laranja, verde-esmeralda, azul-noite, amarelo-areia, cores demasiado violentas que me davam a sensação de continuar no filme ou num sonho. Sonho ou pesadelo, era
conforme. De início, um pesadelo, porque eu tinha medo e não me atrevia a aventurar-me muito mais longe. E não era por causa da minha mãe. Se ela me surpreendesse
sozinha no boulevard, à meia-noite, limitar-se-ia a uma breve reprovação. Dir-me-ia que fosse para casa, na sua voz calma, como se não a espantasse encontrar-me
na rua a uma hora tão tardia. Creio que circulava pelo outro passeio, o da escuridão, por sentir que a minha mãe já não podia fazer nada por mim.
A primeira vez que a polícia me interpelou, foi no IX.e arrondissement, no princípio da rue de Douai, na padaria que permanece aberta durante toda a noite. Já era
uma hora da madrugada. Estava de pé em frente de uma das mesas altas e comia um croissant. A partir dessa hora, encontram-se sempre pessoas extravagantes naquela
padaria, e muitas vezes vêm do café da frente, O Sans-Souci. Dois polícias à paisana entraram para um controlo de identidade. Eu não tinha documentos e eles quiseram
saber a minha idade. Preferi dizer a verdade. Obrigaram-me a subir para a carrinha da polícia com um tipo alto e louro que usava um casaco de carneira. Parecia conhecer
os polícias. Talvez fosse um deles. A dada altura, ofereceu-me um cigarro, mas um dos polícias à paisana interveio: "É muito nova... faz mal à saúde." Parece-me
que o tratavam por tu.
Na esquadra, perguntaram-me o nome, o apelido, a data de nascimento, e tomaram nota de tudo. Expliquei-lhes que a minha mãe trabalhava no Moulin-Rouge.
pag. 56
"Então, vamos telefonar-lhe", disse um dos polícias à paisana. O que se ocupava do registo deu-lhe o número de telefone do Moulin-Rouge. Marcou o número fixando-me
nos olhos. Senti-me embaraçada. O polícia perguntou: "Posso falar com Mm.e Geneviève Delanque?" Continuava a fixar-me com um olhar duro e baixei os olhos. Em seguida,
ouvi: "Não... Não a incomode..." Desligou. Então sorriu-me. Quis assustar-me. "Desta vez, ficamos por aqui", disse-me ele, "mas na próxima, terei de prevenir a sua
mãe." Levantou-se e saímos da esquadra. O louro do casaco de carneira aguardava no passeio. Obrigaram-me a subir para uma viatura, para a parte de trás. "Vou levar-te
a casa", disse-me o polícia à paisana. Começara a tratar-me por tu. O louro do casaco de carneira desceu da viatura na place Blanche, em frente da farmácia. Parecia-me
estranho encontrar-me sozinha no banco de trás de uma viatura com aquele tipo ao volante. Parou em frente do meu prédio. "Vá dormir. E não repita a proeza." Deixara
de me tratar por tu. Julgo ter balbuciado um "obrigada". Encaminhei-me para a porta e, antes de a abrir, voltei-me para trás. Desligara o motor e continuava a olhar
para mim, como se quisesse certificar-se de que entrava de facto no prédio. Olhei pela janela do meu quarto. A viatura continuava estacionada. Aguardei, com a testa
encostada à janela, curiosa por saber até quando ali permaneceria. Ouvi o barulho do motor antes de a ver virar e desaparecer na esquina da rua. Experimentei a sensação
de angústia de que era muitas vezes acometida durante a noite e que se revelava ainda mais intensa do que o medo - a sensação de me saber doravante entregue a mim
mesma sem nenhum recurso. Nem a minha mãe nem ninguém. Gostaria que o polícia se mantivesse de vigia em frente do prédio, toda a noite e nas noites seguintes, como
uma sentinela, ou antes, um anjo da guarda que velasse por mim.
pag. 57
Mas havia noites em que a angústia desaparecia e eu aguardava impacientemente a partida da minha mãe para sair. Descia a escada com o coração aos pulos, como se
fosse para um encontro. Já não precisava de mentir ao porteiro, de inventar desculpas ou de pedir licença. A quem? E porquê? Nem sequer tinha a certeza de voltar
a casa. Na rua, não circulava pelo passeio do lado escuro, mas pelo do Moulin-Rouge. As luzes pareciam-me ainda mais intensas do que as dos filmes do México. Apoderava-se
de mim uma embriaguez tão leve... Sentira algo semelhante na noite em que bebera uma taça de champanhe no Sans-Souci. Tinha a vida à minha frente. Como pudera esconder-me
andando junto às paredes? E de que tinha medo? Iria conhecer pessoas. Bastaria entrar num qualquer café.
Conheci uma rapariga, pouco mais velha do que eu, chamada Jeannette Gaul. Numa noite de dores de cabeça, entrei na farmácia da place Blanche para comprar Véganine
e um frasco de éter. No momento de pagar, apercebi-me de que não levara dinheiro. A rapariga loura de cabelo curto que vestia um impermeável e cujo olhar - olhos
verdes - se cruzara com o meu avançara para a caixa e pagara por mim. Senti-me embaraçada, sem saber como lhe agradecer. Convidei-a a ir até minha casa para a reembolsar.
Tinha sempre algum dinheiro na minha mesa-de-cabeceira. Ela respondeu: "Não... não... fica para a próxima vez." Também morava no bairro, mas mais abaixo. Olhava-me
e os seus olhos verdes sorriam. Convidou-me para tomar uma bebida na sua companhia, perto da sua casa, e entrámos num café - ou antes, um bar da rue de La Rochefoucauld.
Um ambiente nada semelhante ao do Condé. As paredes eram de madeira clara, bem como o balcão e as mesas, e uma espécie de vitral que dava para a rua. Bancos de veludo
vermelho-escuro. Uma luz filtrada.
pag. 58
Atrás do bar, uma mulher loura de cerca de quarenta anos que Jeannette Gaul conhecia bem, pois chamava-lhe Suzanne e tratava-a por tu. Serviu-nos dois Pimm's com
champanhe.
- À sua - brindou Jeannette Gaul. Continuava a sorrir e tive a impressão de que os seus olhos me escrutavam para adivinhar o que se passava na minha cabeça. Perguntou-me:
- Vive no bairro?
- Sim. Um pouco mais acima.
Existiam várias zonas no bairro, cujas fronteiras me eram familiares, mesmo as mais invisíveis. Como me sentia intimidada e não sabia o que dizer, acrescentei: "Sim,
moro mais acima. Aqui ainda é só o começo das primeiras ladeiras." A jovem franziu o sobrolho. "As primeiras ladeiras?" Estas duas palavras intrigaram-na, mas não
perdera o sorriso. Seria por efeito do Pimm's? A minha timidez diluiu-se. Expliquei-lhe o que significava "as primeiras ladeiras", uma expressão que aprendera na
escola, como todas as crianças do bairro. A partir da square de la Trinité começam "as primeiras ladeiras". Nunca mais paramos de subir até ao château des Brouillards
e ao cemitério Saint-Vincent, antes de voltarmos a descer para o interior de Clignancourt, a norte.
- Sabes muitas coisas - disse-me ela. E o seu sorriso tornou-se irónico. Começara bruscamente a tratar-me por tu, o que me pareceu natural. Pediu mais duas taças
à mulher que se chamava Suzanne. Eu não estava habituada a beber e, para mim, uma taça já era de mais. Mas não me atrevi a recusar. Para terminar mais depressa,
bebi o champanhe de um trago. Ela continuava a observar-me, em silêncio.
- És estudante?
Hesitei em responder. Sempre sonhara ser estudante, por causa do vocábulo, que me parecia fino. Mas este sonho tornara-se inacessível para mim no dia em que não
fora aceite no
pag. 59
liceu Jules-Ferry. Seria da segurança transmitida pelo champanhe? Debrucei-me sobre ela e, talvez para melhor a convencer, aproximei o rosto do seu:
- Sim, sou estudante.
Nessa primeira vez, não reparei nos clientes que nos rodeavam. Nada a ver com o Condé. Se não receasse encontrar certos fantasmas, voltaria uma noite àquele bar
para compreender melhor de onde venho. Mas é preciso ser prudente. De resto, arriscar-me-ia a deparar com a porta fechada. Mudança de proprietário. Nada daquilo
parecia ter grande futuro.
- Estudante de quê?
Jeannette insistia. A candura do seu olhar encorajou-me. Não parecia admitir que eu estivesse a mentir.
- De línguas orientais.
Mostrou-se impressionada. Nunca me pediu pormenores sobre os meus estudos de línguas orientais, nem os horários das aulas, nem a localização da escola. Devia ter
percebido que eu não frequentava nenhuma escola. Mas, em minha opinião, tratava-se para ela - e também para mim - de uma espécie de título de nobreza que eu usava,
e que se herda sem necessitar de fazer nada. Apresentava-me aos clientes do bar da rue de La Rochefoucauld como "a Estudante" e talvez ainda lá haja quem se lembre
de mim.
Naquela noite, Jeannette acompanhou-me a casa. Chegou a minha vez de querer saber o que ela fazia na vida. Disse-me que fora bailarina, mas que em consequência de
um acidente tivera de interromper o ofício. Bailarina clássica? Não, nem por isso, embora tivesse formação de bailarina clássica. Hoje, vem-me à ideia uma interrogação
que naquele tempo nunca me teria ocorrido: teria sido tão bailarina quanto eu estudante? Seguimos pela rue Fontaine em direcção à place Blanche. Jeannette explicou-me
que "de momento" era sócia de Suzanne, uma grande amiga e um pouco "irmã mais velha".
pag. 60
Cuidavam ambas do local onde me levara naquela noite e que funcionava igualmente como restaurante.
Perguntou-me se vivia sozinha. Sim, sozinha com a minha mãe. Quis saber que profissão exercia a minha mãe. Não proferi a palavra "Moulin-Rouge". Respondi-lhe num
tom seco: "Contabilista." Afinal, a minha mãe poderia ter sido contabilista. Possuía a seriedade e a discrição necessárias.
Separámo-nos em frente da porta. Não era de ânimo leve que regressava a casa todas as noites. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a abandonaria definitivamente.
Esperava muito das pessoas com quem me relacionaria e que poriam termo à minha solidão. Aquela rapariga era o meu primeiro encontro e talvez me ajudasse a libertar-me.
- Encontramo-nos amanhã? - Jeannette mostrou-se surpreendida pela minha pergunta. Fizera-a de uma maneira demasiado brusca, sem conseguir ocultar a minha preocupação.
- Com certeza. Quando quiseres...
Dirigiu-me um sorriso triste e irónico, o mesmo do momento em que lhe explicara o que significavam "as primeiras ladeiras".
Tenho falhas de memória. Ou antes, certos pormenores apresentam-se-me desordenados. Há cinco anos que não queria pensar em nada disto. Mas bastou que o táxi subisse
a rua e eu visse os anúncios luminosos - Aux Noctambules, Aux Pierrots... Já não sei como se chamava o estabelecimento da rue de La Rochefoucauld. Rouge Cloitre?
Chez Dante? Canter? Sim, o Canter. Nenhum cliente do Condé teria frequentado Le Canter. Existem fronteiras intransponíveis na vida. No entanto, numa das primeiras
vezes em que entrei no Condé, surpreendi-me ao reconhecer um cliente que vira no Canter, o tipo que se chama Maurice Raphaél e tem por alcunha Jaguar...
pag. 61
Realmente, nunca poderia ter adivinhado que o homem é escritor... Nada o distinguia dos que jogavam às cartas ou outros jogos na pequena sala do fundo, atrás da
grade de ferro forjado... Reconheci-o. Por outro lado, percebi que a minha cara não lhe recordava nada. Ainda bem. Que alívio...
Nunca compreendi que papel desempenhava Jeannette Gaul no Canter. Muitas vezes, encarregava-se de servir os clientes. Sentava-se à mesa com eles. Conhecia-os, na
sua maioria. Apresentou-me um homem alto e moreno, de aspecto oriental, muito bem vestido, e que parecia ter andado a estudar, um certo Accad, filho de um médico
do bairro. Estava sempre acompanhado por dois amigos, Godinger e Mário Bay. Às vezes, jogavam às cartas e outros jogos com homens mais velhos, na pequena sala do
fundo. As sessões prolongavam-se até às cinco da manhã. Um dos jogadores era, aparentemente, o verdadeiro proprietário do Canter. Um homem de cerca de cinquenta
anos, cabelo grisalho e curto, também ele muito bem vestido, de ar severo e que Jeannette me disse ser um "antigo advogado". Lembro-me do seu nome: Mocellini. De
vez em quando, levantava-se e juntava-se a Suzanne, atrás do balcão. Certas noites, substituía-a e servia pessoalmente os clientes, como se estivesse em casa rodeado
de convidados. Chamava "Pequena" ou "Caveira" a Jeannette, nunca percebi porquê, e olhava-me com uma certa desconfiança nas primeiras vezes que entrei no Canter.
Certa noite, perguntou-me a minha idade. Exagerei, respondi "vinte e um anos". Ele observou-me de sobrolho franzido, não acreditou. "Tem a certeza de que são vinte
e um anos?" Sentia-me cada vez mais embaraçada e prestes a confessar a minha verdadeira idade, mas o seu olhar perdeu bruscamente toda a severidade. Sorriu e encolheu
os ombros. "Pois seja, digamos que tem vinte e um anos."
pag. 62
Jeannette tinha um fraco por Mário Bay. Este usava óculos escuros mas não por vaidade. A luz fazia-lhe mal aos olhos. Mãos finas. De início, Jeannette julgou que
fosse pianista, daqueles, disse ela, que dão concertos, no Gaveau ou na sala Pleyel. Aparentava cerca de trinta anos, como Accad e Godinger. Mas se não era pianista,
que fazia na vida? Ele e Accad eram muito amigos de Mocellini. No entender de Jeannette, tinham trabalhado com Mocellini quando este ainda era advogado. Desde então,
continuavam ao seu serviço. Onde? Em sociedades, dizia ela. Mas que significava "sociedades"? No Canter, convidavam-nos para a mesa que ocupavam, e Jeannette dizia
que Accad se interessava por mim. Percebi, desde o início, que ela queria ver-me sair com ele, talvez para reforçar a sua ligação com Mário Bay. Eu tinha a impressão
de agradar mais a Godinger. Era moreno como Accad mas mais alto. Jeannette não o conhecia tão bem como aos outros dois. Aparentemente, tinha muito dinheiro e um
automóvel que costumava estacionar em frente do Canter. Vivia num hotel e ia muitas vezes à Bélgica.
Buracos negros. Seguidos de pormenores que acodem à memória, pormenores tão precisos quanto insignificantes. Vivia num hotel e ia muitas vezes à Bélgica. Há dias,
repeti esta frase estúpida como o refrão de uma canção de embalar que cantarolamos às escuras para nos tranquilizarmos. E por que razão Mocellini chamaria Caveira
a Jeannette? Pormenores que escondem outros, muito mais dolorosos. Lembro-me da tarde, alguns anos mais tarde, em que Jeannette foi visitar-me a Neuilly. Quinze
dias depois do meu casamento com Jean-Pierre Choureau. Nunca consegui chamá-lo de outra maneira que não Jean-Pierre Choureau, sem dúvida por ser muito mais velho
do que eu e não me tratar por tu. Jeannette tocou três vezes à campainha, como eu lhe pedira.
pag. 63
Hesitei em abrir, mas não tinha sentido, ela sabia o meu número de telefone e endereço. Esgueirou-se pela porta entreaberta como quem se introduz num apartamento
para o assaltar. Na sala, lançou um olhar à sua volta, para as paredes brancas, a mesa de centro, a pilha de revistas, o candeeiro de quebra-luz vermelho, o retrato
da mãe de Jean-Pierre Choureau, por cima do sofá. Não dizia nada. Meneava a cabeça. Insistia em ver o resto da casa. Pareceu espantar-se por eu e Jean-Pierre Choureau
dormirmos em quartos separados. No meu quarto, estendemo-nos na cama.
- Então, é um rapaz de boas famílias? - perguntou-me Jeannette. E deu uma gargalhada.
Não voltara a vê-la depois do hotel da rue d'Armaillé. O seu riso deixava-me pouco à vontade. Receava que me remetesse para tempos passados, os do Canter. Contudo,
quando fora visitar-me no ano anterior à rue d'Armaillé, anunciara-me que se desligara dos outros.
- Um verdadeiro quarto de rapariga...
Em cima da cómoda, uma fotografia de Jean-Pierre Choureau numa moldura de cabedal grená. Jeannette levantou-se e debruçou-se sobre a fotografia.
- É um belo homem... Mas porque dormem em quartos separados?
Voltou a deitar-se ao meu lado. Disse-lhe que preferia encontrar-me com ela longe de casa. Receava que se sentisse embaraçada na presença de Jean-Pierre Choureau.
Além disso, não poderíamos conversar à vontade.
- Tens medo de que venha visitar-te com os outros? Riu-se, mas num riso menos franco do que o anterior. Era verdade, eu receava, mesmo em Neuilly, encontrar-me com
Accad.
pag. 64
Surpreendia-me que ele não tivesse descoberto o meu rasto enquanto vivera em hotéis, primeiro na rue de L'Étoile, depois na rue d'Armaillé.
- Sossega... Há muito que saíram de Paris... Foram para Marrocos.
Acariciava-me a testa, como se quisesse apaziguar-me.
- Imagino que não tenhas falado ao teu marido das festas em Cabassud...
Não havia ironia no que Jeannette acabava de dizer. Pelo contrário, foi a tristeza da sua voz que me impressionou. Era o companheiro dela, Mário Bay, o tipo dos
óculos escuros e das mãos de pianista, que empregava o termo "festas" quando nos levavam, ele e Accad, a passar a noite em Cabassud, um albergue perto de Paris.
- Isto aqui é calmo... Muito diferente de Cabassud... Lembras-te?
Pormenores sobre os quais queria fechar os olhos como numa luz demasiado viva. No entanto, naquela vez em que nos separámos dos amigos de Guy de Vere e regressava
de Montmartre com Roland, mantinha os olhos arregalados. Era tudo mais nítido, mais incisivo, uma luz crua que me feria e à qual acabava por me habituar. Certa noite,
no Canter, encontrava-me banhada por essa mesma luz, sentada a uma mesa com Jeannette, perto da entrada. Não estava lá ninguém para além de Mocellini e os outros
que jogavam às cartas na sala do fundo, atrás da grade. A minha mãe já devia ter regressado a casa há muito tempo. Perguntava-me se a minha ausência a inquietaria.
Lembrava quase com saudade a noite em que fora buscar-me ao comissariado das Grandes-Carrières. A partir de agora, tinha o pressentimento de que nunca mais poderia
procurar-me. Encontrava-me demasiado longe. Invadia-me uma angústia que eu tentara conter e que me impedia de respirar. Jeannette aproximou o rosto do meu.
pag. 65
- Estás muito pálida... Não te sentes bem?
Quis sorrir para a tranquilizar, mas tive a impressão de esboçar um esgar.
- Não... Não é nada...
Desde que saía de casa à noite, defrontava-me com breves acessos de pânico ou antes "quebras de tensão", como dissera o farmacêutico da place Blanche, numa noite
em que procurei explicar-lhe o que sentia. Mas sempre que proferia uma palavra, esta parecia-me falsa ou anódina. Seria preferível manter o silêncio. Bruscamente,
em plena rua, sentia-me acometida de uma sensação de vazio. A primeira vez foi em frente da tabacaria, depois do Cyrano. Andava por ali muita gente, mas não me sentia
tranquila. Ia desfalecer e as pessoas continuariam a seguir em frente sem me prestar nenhuma atenção. Quebra de tensão. Corte de corrente. Teria de me esforçar por
restabelecer o contacto. Naquela noite, entrara na tabacaria e pedira selos, postais, uma esferográfica e um maço de cigarros. Sentara-me ao balcão. Pegara num postal
e começara a escrever. "Mais um pouco de paciência. Creio que as coisas vão melhorar." Acendera um cigarro e colara um selo no postal. Mas a quem o endereçar? Gostaria
de escrever algumas palavras em cada um dos postais, palavras tranquilizadoras: "Está bom tempo, as férias têm sido óptimas, espero que estejam todos bem. Até breve.
Um abraço." Estou sentada, de manhã muito cedo, na esplanada de um café, à beira-mar. E escrevo postais aos amigos.
- Como te sentes? Estás melhor? - perguntou Jeannette. Aproximara ainda mais o rosto do meu.
- Queres sair para apanhar ar?
A rua nunca me parecera tão deserta e silenciosa. Era iluminada por candeeiros de outros tempos.
pag. 66
É difícil imaginar que bastava subir a encosta para encontrar, a algumas centenas de metros, a multidão dos sábados à noite, os anúncios luminosos que anunciavam
"Os Mais Belos Nus do Mundo" e os autocarros de turistas em frente do Moulin-Rouge... Amedrontava-me toda aquela agitação. Disse a Jeannette:
- Podíamos ficar a meio da encosta... Caminhámos até ao sítio onde começavam as luzes, o cruzamento ao fundo da rue Notre-Dame-de-Lorette. Mas demos meia-volta e
seguimos em sentido inverso o declive da rua. À medida que descíamos a encosta, do lado mais escuro, ia-me sentindo aliviada. Bastava deixar-me levar. Jeannette
apertava-me o braço. Tínhamos chegado quase ao fundo da rua, ao cruzamento de la Tour-des-Dames. Ela disse-me:
- Não queres experimentar um pouco de neve?
Não compreendi o sentido exacto da frase, mas a palavra "neve" impressionou-me. Tinha a impressão de que ia começar a nevar a qualquer momento e tornar ainda mais
profundo o silêncio à nossa volta. Só se ouviria o rangido dos nossos passos na neve. Algures, um relógio batia horas e, não sei porquê, pensei que anunciava a missa
da meia-noite. Jeannette guiava-me. Eu deixava-me levar. Seguíamos pela rue d'Aumale, com todos os prédios às escuras. Dir-se-ia que formavam uma única fachada negra
de cada lado e de uma extremidade à outra da rua.
- Vem ao meu quarto... vamos tomar um pouco de neve...
Logo que chegássemos, perguntar-lhe-ia o que aquilo queria dizer: tomar um pouco de neve. Sentia-se mais o frio, por causa daquelas fachadas negras. Estaria num
sonho, para ouvir assim tão nitidamente o eco dos nossos passos?
Dali em diante, percorri muitas vezes o mesmo caminho, sozinha ou com ela. Ia encontrar-me com ela no quarto durante o dia ou passava lá a noite quando ficávamos
até tarde no Canter.
pag. 67
Era num hotel da rue Laferrière, uma rua que forma um cotovelo e onde nos sentimos longe de tudo, na zona das primeiras encostas. Um elevador com uma grade de ferro.
Subia devagar. Ela morava no último andar, ou mais alto. Talvez o elevador não parasse. Segredou-me ao ouvido:
- Verás... vai ser bom... vamos tomar um pouco de neve...
Tremiam-lhe as mãos. Na penumbra do corredor, estava tão nervosa que não conseguia introduzir a chave na fechadura.
- Vem cá... experimenta... Eu não consigo...
Tinha a voz cada vez mais ofegante. Deixara cair a chave. Agachei-me para a encontrar, tacteando. Consegui introduzi-la na fechadura. A luz estava acesa, uma luz
amarela, difundida por um candeeiro no tecto. A cama por fazer, as cortinas corridas. Sentou-se na beira da cama e remexeu na mesa-de-cabeceira. Pegou numa pequena
caixa de metal. Disse-me que aspirasse aquele pó branco a que chamara "neve". Passado um instante, tive uma sensação de frescura e leveza. Tive a certeza de que
nunca mais voltaria a experimentar a angústia e o sentimento de vazio que me assaltavam na rua. Desde que o farmacêutico da place Blanche me falara de uma quebra
de tensão, julgava ter de me aprumar, de lutar contra mim mesma, de tentar controlar-me. Nada a fazer, fui educada com grande dureza. Avançar ou cair. Se caísse,
os outros continuariam a caminhar pelo boulevard de Clichy. Eu não devia alimentar ilusões. Mas doravante, tudo mudaria. De resto, as ruas e as fronteiras do bairro
afiguravam-se-me bruscamente demasiado estreitas.
Uma livraria e papelaria do boulevard de Clichy permanecia aberta até à uma hora da manhã. Mattei. Um simples nome na fachada. O nome do proprietário?
pag. 68
Nunca me atrevi a fazer a pergunta ao homem moreno que usava bigode e um casaco príncipe-de-gales e estava sempre sentado a uma secretária, a ler. Os clientes interrompiam-lhe
a leitura para comprar postais ou blocos de papel de carta. À hora em que eu lá entrava, quase não havia clientes, a não ser, às vezes, algumas pessoas que saíam
do Minuit Chansons, ao lado. Em geral, encontrávamo-nos sozinhos na livraria, eu e ele. Na montra, estavam sempre expostos os mesmos livros, que percebi rapidamente
serem de ficção científica. O homem aconselhara-me a lê-los. Lembro-me do título de alguns: 827 Era Galáctica(1). Stowaway to Mars(2). Vandals of the Void(3). Conservei
um único: The Dreaming jewels(4).
À direita, nas prateleiras perto da montra, viam-se livros em segunda mão consagrados à astronomia. Saltara-me à vista um deles, de capa cor de laranja meio rasgada:
Voyage dans L'infini(5). Ainda o tenho. No sábado à noite em que quis comprá-lo, era a única cliente na livraria e quase não se ouvia o barulho do boulevard. Através
da montra, viam-se alguns anúncios luminosos e mesmo o azul e branco dos "Mais Belos Nus do Mundo", mas pareciam tão longínquos... Eu não me atrevia a incomodar
aquele homem que lia, sentado, de cabeça baixa. Fiquei calada uns bons dez minutos, antes de o ver voltar-se para mim. Estendi-lhe o livro. Ele sorriu: "É muito
bom. Mesmo muito bom... Voyage dans L'infini..." Preparava-me para lhe pagar, mas ele ergueu o braço: "Não... não... Dou-lho... E desejo-lhe uma boa viagem..."
__________
1. Autor: Isaac Asimov. (N. da T.).
2. Autor: John Wyndham. (N. da T.)
3. Autor: J. M. Walsh. (N. da T.)
4. Autor: Theodore Sturgeon. (N. da T.)
5. Autor: Serge Brunier. (N. da T.)
pag. 69
Sim, aquela livraria não foi simplesmente um refúgio, mas também uma etapa na minha vida. Ficava lá muitas vezes até à hora do encerramento. Havia uma cadeira perto
das prateleiras, ou antes, um grande escadote. Era ali que me sentava para folhear os livros e os álbuns ilustrados. Perguntava-me se o homem se aperceberia da minha
presença. Ao cabo de alguns dias, sem interromper a leitura, começou a dirigir-me uma frase, sempre a mesma: "Então, sente-se feliz?" Mais tarde, alguém me declarou
com muita segurança que a única coisa de que não podemos lembrar-nos é do timbre das vozes. Todavia, ainda hoje, nas noites de insónia, ouço muitas vezes a voz de
sotaque parisiense - o das ruas inclinadas - dizer-me: "Então, sente-se feliz?" E esta frase não perdeu nada da sua gentileza nem do seu mistério.
À noite, ao sair da livraria, sentia-me espantada por me encontrar no boulevard de Clichy. Não me apetecia muito descer até ao Canter. Os meus passos arrastavam-me
para cima. Experimentava prazer em subir as encostas ou as escadas. Contava os degraus. No trigésimo, sabia que estava salva. Muito mais tarde, Guy de Vere deu-me
a ler Horizonte Perdido, a história de pessoas que escalam as montanhas do Tibete até ao mosteiro de Shangri-La para aprender os segredos da vida e da sabedoria.
Mas não vale a pena ir tão longe. Eu recordava os meus passeios nocturnos. Para mim, Montmartre era o Tibete. Bastava-me o declive da rue Caulaincourt. Lá em cima,
em frente do château des Brouillards, respirava pela primeira vez na vida. Um dia, de madrugada, escapuli-me do Canter, onde me encontrava com Jeannette. Estávamos
à espera de Accad e Mário Bay, que queriam levar-nos a Cabassud na companhia de Godinger e de outra rapariga. Sufocava. Inventei uma desculpa para ir apanhar ar.
Larguei a correr. Na praça,
pag. 70
todos os anúncios luminosos estavam apagados, mesmo o do Moulin-Rouge. Deixei-me invadir por uma embriaguez que nem o álcool nem a neve me teriam proporcionado.
Subi a encosta até ao château des Brouillards. Estava decidida a não voltar a ver o bando do Canter. Mais tarde, experimentei a mesma embriaguez sempre que cortava
as amarras com alguém. Só era realmente eu própria no instante em que fugia de mim. As minhas únicas boas recordações são recordações de fuga ou de afastamento.
Mas a vida acabava sempre por se sobrepor. Quando alcancei a allée des Brouillards, tive a certeza de que alguém marcara encontro comigo ali e de que, para mim,
seria um novo começo. Há uma rua, um pouco mais acima, onde gostaria de voltar um dia. Segui por essa rua naquela manhã. Era ali que devia realizar-se o encontro.
Mas ignorava o número da porta do prédio. Nenhuma importância. Esperava um sinal que mo indicasse. Mais adiante, a rua desembocava no céu, como se conduzisse à beira
de uma falésia. Avançava com o sentimento de leviandade de que por vezes somos acometidos em sonhos. Não tememos nada. Todos os perigos são irrisórios. Se as coisas
correrem realmente mal, basta-nos acordar. Somos invencíveis. Eu caminhava, ansiosa por chegar ao fim, onde só havia o azul do céu e o vazio. Que palavra traduziria
o meu estado de espírito? O vocabulário de que disponho é pobre. Embriaguez? Êxtase? Encantamento? Em todo o caso, aquela rua era-me familiar. Parecia-me já a ter
percorrido anteriormente. Em breve alcançaria a beira da falésia e lançar-me-ia no vazio. Que felicidade, pairar no ar e conhecer finalmente aquela sensação de ausência
de gravidade que sempre procurara. Recordo com tanta nitidez aquela manhã, aquela rua e o céu, lá ao fundo...
pag. 71
E depois a vida continuou, com altos e baixos. Num dia de depressão, na capa do livro que Guy de Vere me emprestara: Louise du Néant(6), peguei numa esferográfica
e substituí o nome pelo meu. Jacqueline du Néant.
6. Autor: Jean Maillard. (N. da T.)
pag. 72
Nessa noite, foi como se fizéssemos girar as mesas. Encontrávamo-nos reunidos no escritório de Guy de Vere e este apagara a luz. Ou, muito simplesmente, tratava-se
de uma avaria na corrente. Ouvíamos a sua voz na escuridão. Recitava-nos um texto que, não fora a falta de luz, nos leria às claras. Mas não, estou a ser injusto,
Guy de Vere sentir-se-ia chocado se me ouvisse falar a seu respeito de "mesas de pé-de-galo". Valia mais do que isso. Ter-me-ia dito num tom de leve censura: "Enfim,
Roland..."
Acendeu as velas de um candelabro que se encontrava em cima da chaminé, depois voltou a sentar-se à secretária. Nós ocupávamos os assentos à sua frente, a rapariga,
eu e um casal de cerca de quarenta anos, os dois muito bem-postos e de aspecto burguês, que ali via pela primeira vez.
Voltei a cabeça para ela e os nossos olhares cruzaram-se. Guy de Vere continuava a falar, de busto ligeiramente inclinado mas com naturalidade, quase no tom de uma
conversa corrente. Em cada reunião, lia um texto do qual distribuía mais tarde exemplares policopiados. Nessa noite, guardei a cópia. Tinha um ponto de referência.
Ela dera-me o seu número de telefone e eu escrevera-o ao fundo da página, a esferográfica vermelha.
pag. 73
"É deitados, de olhos fechados, que obtemos o máximo de concentração. À mínima manifestação exterior, começam a dispersão e a difusão. De pé, as pernas absorvem
uma parte da força. Os olhos abertos diminuem a concentração..."
Senti dificuldade em conter o riso e lembro-me bem disso porque nunca me acontecera até então. Mas a luz das velas conferia à leitura demasiada solenidade. O meu
olhar cruzou-se várias vezes com o dela. Aparentemente, não sentia vontade de rir. Pelo contrário, parecia muito circunspecta, e mesmo preocupada por não compreender
o sentido das palavras. Acabou por me comunicar aquela seriedade. Quase me envergonhei da minha primeira reacção. Mal me atrevia a pensar na perturbação que teria
semeado se tivesse rido às gargalhadas. E no seu olhar julguei ver uma espécie de pedido de ajuda, uma interrogação. Sou digna de me encontrar entre vós? Guy de
Vere cruzara os dedos. A sua voz adquirira um tom mais grave e ele olhava-a fixamente como se só se dirigisse a ela. A rapariga estava petrificada. Talvez receasse
que ele lhe fizesse uma pergunta inesperada, do género: "E que me diz? Gostaria muito de saber a sua opinião."
Voltou a luz. Ainda permanecemos alguns momentos no escritório, ao contrário do que era costume. As reuniões realizavam-se sempre na sala e juntavam uma dezena de
pessoas. Naquela noite, éramos apenas quatro e de Vere preferira com certeza receber-nos no escritório precisamente por sermos poucos. E a reunião fora organizada
por simples marcação, sem o habitual convite que recebíamos em casa ou nos era dado na Livraria Vega, no caso de sermos clientes frequentes. Como certos textos policopiados,
guardei alguns destes convites, e ontem veio parar-me às mãos um deles:
pag. 74
Meu caro Roland,
Guy de Vere
terá muito prazer em recebê-lo
No dia 16 de Janeiro, quinta-feira, às20 horas,
Square Lowendal, 5, (XV.e)
2º prédio à esquerda
3º andar esquerdo
O cartão branco, sempre do mesmo formato, e os caracteres em filigrana poderiam anunciar uma reunião mundana, cocktail ou aniversário.
Naquela noite, acompanhou-nos até à porta do apartamento. Guy de Vere e o casal que comparecera pela primeira vez tinham com certeza mais vinte anos do que nós os
dois. Como o elevador era demasiado exíguo para quatro pessoas, descemos, eu e ela, pela escada.
Uma via privada ladeada de prédios idênticos de fachadas cor de tijolo e beges. As mesmas portas de ferro forjado por baixo de uma lanterna. As mesmas fiadas de
janelas. Ultrapassado o portão, encontrávamo-nos na praceta da rue Alexandre-Cabanel. Insisto em escrever o nome da rua, pois foi ali que os nossos caminhos se cruzaram.
Por um momento, deixámo-nos ficar imóveis no meio da praceta, à procura de algumas palavras para trocar. Fui eu que rompi o silêncio.
- Vive no bairro?
- Não, para os lados da Étoile. Procurei um pretexto para não nos separarmos logo de seguida. "Podemos fazer parte do caminho juntos."
Avançávamos debaixo do viaduto, ao longo do boulevard de Grenelle. Ela propusera-me seguir a pé a linha do metro aéreo que conduzia à Étoile. Sentindo-se cansada,
poderia sempre fazer o resto do caminho de metro. Devia ser um domingo à noite ou um feriado.
pag. 75
Não havia trânsito, todos os cafés estavam fechados. Em todo o caso, na minha recordação, encontrávamo-nos, naquela noite, numa cidade deserta. O nosso encontro,
quando agora penso nele, assemelha-se ao encontro de duas pessoas sem nada que as prendesse à vida. Creio que estávamos ambos sozinhos no mundo.
- Há muito tempo que conhece Guy de Vere? - perguntei.
- Não, conheci-o no início do ano através de um amigo. E consigo, como foi?
- Encontrei-o na Livraria Vega.
Ela ignorava a existência da livraria do boulevard Saint-Germain cuja montra exibia uma inscrição em caracteres azuis: Orientalismo e religiões comparadas. Fora
ali que eu ouvira falar pela primeira vez de Guy de Vere. Certa noite, o livreiro dera-me um dos convites, dizendo-me que podia assistir à reunião. "É mesmo para
pessoas como o senhor." Gostaria de lhe ter perguntado o que entendia por "pessoas como o senhor". Tratava-me com uma certa gentileza e, portanto, não devia ser
pejorativo. Propunha-se mesmo "recomendar-me" a esse tal Guy de Vere.
- E é boa, a Livraria Vega?
Fizera-me a pergunta num tom irónico. Mas talvez fosse o sotaque parisiense que me dava essa impressão.
- Encontram-se lá muitos livros interessantes. Um dia, levo-a comigo.
Quis saber quais eram as suas leituras e o que a atraíra nas reuniões de Guy de Vere. O primeiro livro que de Vere lhe aconselhara fora Horizonte Perdido. Lera-o
com muita atenção. Na reunião precedente, chegara mais cedo do que os outros, e de Vere levara-a ao seu escritório. Procurou nas prateleiras das estantes, que ocupavam
duas paredes inteiras, outro livro para lhe emprestar.
pag. 76
Passado um instante, como se lhe tivesse ocorrido bruscamente uma ideia, dirigira-se à secretária e pegara num livro que se encontrava no meio de pilhas de dossiers
e cartas desordenadas. Dissera-lhe: "Pode ler isto. Gostaria de saber o que pensa do assunto." Ela sentira-se intimidada. De Vere falava sempre com os outros como
se fossem tão inteligentes e cultos como ele. Até quando? Acabaria por perceber que ela não estava à sua altura. O livro que lhe dera naquela noite intitulava-se:
Louise du Néant. Era a história da vida de Louise du Néant, uma religiosa, com todas as cartas que escrevera. Não leu o livro por ordem, abria-o ao acaso. Certas
páginas tinham-na impressionado muito. Ainda mais do que Horizonte Perdido. Antes de conhecer de Vere, lera romances de ficção científica como The Dreaming jewels.
E obras de astronomia. Que coincidência... Eu também gostava muito de astronomia.
Na estação Bir-Hakeim, perguntei-me se ela iria de metro ou se quereria continuar a caminhar e atravessar o Sena. Por cima de nós, a intervalos regulares, o barulho
das carruagens. Começámos a atravessar a ponte.
- Eu também moro perto da Étoile - disse-lhe. - Talvez não muito longe da sua casa.
Ela hesitava. Queria com certeza dizer-me qualquer coisa que a embaraçava.
- Na verdade, sou casada... Vivo com o meu marido em Neuilly...
Dir-se-ia que me confessara um crime.
- E está casada há muito tempo?
- Não. Nem por isso... desde o mês de Abril do ano passado...
Caminhávamos de novo. Tínhamos chegado ao meio da ponte, ao nível da escada que conduz à allée des Cygnes.
pag. 77
Começou a descer a escada e eu segui-a. Descia os degraus num passo seguro, como se fosse para um encontro. E falava comigo cada vez mais depressa.
- Numa época em que procurava um emprego... Deparei com um anúncio... Era um trabalho temporário, de secretariado...
Em baixo, seguimos pela allée des Cygnes. De cada lado, o Sena e as luzes dos cais. Por mim, tinha a impressão de me encontrar a passear na ponte de um barco encalhado
em plena noite.
- No escritório, trabalhava com um homem... Era simpático... Mais velho do que eu... Passado algum tempo, quis que nos casássemos...
Dir-se-ia que queria justificar-se perante um amigo de infância de quem não recebia notícias há algum tempo, e que encontrara na rua, por acaso.
- Mas a si, agradava-lhe casar-se?
Ela encolheu os ombros, como se eu tivesse proferido um absurdo. Esperava ouvi-la dizer a todo o momento: "Mas vejamos, tu que me conheces tão bem..."
Afinal, devia tê-la conhecido numa vida anterior.
- Ele estava sempre a dizer-me que queria o meu bem... É verdade... Quer o meu bem... Considera-se de certo modo meu pai...
Pareceu-me que esperava um conselho da minha parte. Não devia estar habituada a fazer confidências.
- E nunca a acompanha às reuniões?
- Não. Trabalha muito.
Conhecera de Vere por intermédio de um amigo de juventude do marido. Ele levara de Vere a jantar com eles em Neuilly. Fornecia-me todos estes pormenores, de sobrancelhas
franzidas, como se receasse esquecer algum, mesmo o mais insignificante.
pag. 78
Tínhamos chegado ao fundo da alameda, frente à estátua da Liberdade. Um banco do lado direito. Já não sei qual de nós tomou a iniciativa de se sentar, ou então tivemos
a mesma ideia ao mesmo tempo. Perguntei-lhe se não tinha de ir para casa. Era a terceira ou a quarta vez que assistia às reuniões de Guy de Vere, e que se encontrava
pelas onze horas da noite em frente da escada da estação Cambronne. E de todas as vezes, ante a perspectiva de regressar a Neuilly, experimentava uma espécie de
desânimo. Doravante, estava porém condenada a viajar sempre na mesma linha de metro. Mudança em Étoile. Saída em Sablons...
Eu sentia o contacto do seu ombro contra o meu. Disse-me que, depois do jantar em que vira Guy de Vere pela primeira vez, ele a convidara para assistir a uma conferência
que ia proferir numa pequena sala perto do Odéon. Naquele dia, tratava-se do "Midi obscuro" e da "luz verde". À saída da sala, caminhara ao acaso pelo bairro. Pairava
na luz verde e límpida de que falara Guy de Vere. Cinco horas da tarde. Havia muito trânsito no boulevard e, no carrefour de l'Ódéon, as pessoas empurravam-na porque
caminhava na contracorrente e não queria descer, como elas, as escadas da estação do metro. Uma rua deserta subia suavemente para o jardim do Luxemburgo. E aí, a
meio do caminho, entrara num café, num prédio de esquina: o Condé. "Conheces o Condé?" Começara de repente a tratar-me por tu. Não, não conhecia o Condé. Para dizer
a verdade, não apreciava muito aquele bairro estudantil. Recordava-me a minha infância, os dormitórios de uma escola da qual fora expulso e um restaurante universitário,
do lado da rue Dauphine, que me via obrigado a frequentar, com um falso cartão de estudante. Eu morria de fome.
pag. 79
A partir de então, ela refugiava-se muitas vezes no Condé. Travara rapidamente conhecimento com a maior parte dos clientes habituais, em particular dois escritores:
um certo Maurice Raphael e Arthur Adamov. Já ouvira falar deles? Sim. Sabia quem era Adamov. Vira-o mesmo, repetidas vezes, perto de Saint-Julien-le-Pauvre. Um olhar
inquieto. Diria mesmo: aterrado. Andava de sandálias, sem peúgas. Ela nunca lera nenhum livro de Adamov. No Condé, ele pedia-lhe às vezes que o acompanhasse ao hotel,
porque, de noite, tinha medo de andar sozinho. Desde que frequentava o Condé, os outros tinham-lhe dado uma alcunha. Chamava-se Jacqueline, mas eles tratavam-na
por Louki. Se eu quisesse, apresentar-me-ia Adamov e os outros. E também Jimmy Campbell, um cantor inglês. E um amigo tunisino, Ali Cherif. Poderíamos encontrar-nos
durante o dia no Condé. Também lá ia à noite, quando o marido se ausentava. Ele regressava frequentemente muito tarde do trabalho. Ela ergueu a cabeça para mim e,
após um momento de hesitação, disse-me que estava a tornar-se cada vez mais difícil para ela voltar para casa do marido, em Neuilly. Parecia preocupada e não proferiu
nem mais uma palavra.
A hora do último metro. Íamos sozinhos na carruagem. Antes de apanhar a ligação na Étoile, deu-me o número de telefone.
Ainda hoje me acontece ouvir, à noite, uma voz que me chama pelo meu nome próprio, na rua. Uma voz rouca. Arrasta um pouco as sílabas e identifico-a de imediato:
a voz de Louki. Volto-me, mas não vejo ninguém. Não só à noite, mas no ócio de certas tardes de Verão, em que não sabemos muito bem em que ano estamos. Vai recomeçar
tudo como dantes.
pag. 80
Os mesmos dias, as mesmas noites, os mesmos lugares, os mesmos encontros. O Eterno Retorno.
Muitas vezes ouço a voz nos meus sonhos. É tudo tão preciso - até ao mínimo pormenor - que me pergunto, ao despertar, como é possível. Há pouco tempo, sonhei que
ia a sair do prédio de Guy de Vere, à mesma hora a que saímos, eu e Louki, na primeira vez. Olhei para o relógio. Onze horas da noite. Numa das janelas do rés-do-chão,
havia uma hera. Transpus o portão e atravessei a square Cambronne em direcção ao metro aéreo quando ouvi a voz de Louki. Chamava-me: "Roland..." Duas vezes. Senti
ironia na sua voz. De início, troçava do meu nome, um nome que não era meu. Escolhera --o para simplificar as coisas, um nome fictício que também podia passar por
apelido. Era prático, Roland. E sobretudo tão francês. O meu verdadeiro nome era demasiado exótico. Naquele tempo, evitava despertar as atenções. "Roland..." Voltei-me.
Ninguém. Encontrava-me no meio da praceta, como na primeira vez, quando não sabíamos o que dizer. Ao acordar, decidi ir ao antigo endereço de Guy de Vere para verificar
se havia de facto uma hera na janela do rés-do-chão. Fui de metro até Cambronne. Era a linha de Louki quando ela ainda regressava a casa do marido, em Neuilly. Acompanhava-a
e descíamos muitas vezes na estação Argentine, perto do hotel onde eu vivia. Ela bem gostaria de ficar toda a noite no meu quarto, mas envidava um derradeiro esforço
e regressava a Neuilly... E depois, uma noite, ficou comigo, em Argentine.
Experimentei uma estranha sensação ao caminhar, de manhã, pela square Cambronne, pois era sempre à noite que íamos a casa de Guy de Vere. Empurrei o portão e pensei
que não tinha nenhuma hipótese de o encontrar passado tanto tempo. Já não havia nenhuma Livraria Vega no boulevard Saint-Germain e Guy de Vere já não vivia em Paris.
Nem Louki.
pag. 81
Mas à janela do rés-do-chão, lá estava a hera, como no meu sonho. O que me causou uma grande perturbação. Aquela noite, teria sido realmente um sonho? Quedei-me
um instante em frente da janela. Esperava ouvir a voz de Louki. Chamar-me-ia mais uma vez. Não. Nada. Silêncio. Mas o tempo não parecia ter passado desde a época
de Guy de Vere. Pelo contrário, fixara-se numa espécie de eternidade. Lembrei-me do texto que tentava escrever quando conhecera Louki. Intitulara-o As Zonas Neutras.
Existiam em Paris zonas intermédias, no man's land em que nos encontrávamos na orla de tudo, em trânsito, ou mesmo em suspenso. Zonas que proporcionavam uma certa
imunidade. Poderia chamar-lhes zonas francas, mas zonas neutras era mais exacto. Uma noite, no Condé, pedira a opinião a Maurice Raphael, uma vez que era escritor.
Ele encolhera os ombros e lançara-me um sorriso matreiro: "Compete-lhe a si saber, meu caro... Não percebo muito bem onde quer chegar... Digamos 'neutras' e não
falemos mais do caso..." A square Cambronne e o bairro entre Ségur e Dupleix, todas as ruas que desembocavam nos passadiços do metro aéreo pertenciam a uma zona
neutra, e não fora por acaso que ali encontrara Louki.
Esse texto, perdi-o. Cinco páginas dactilografadas na máquina que me emprestara Zacharias, um cliente do Condé. Eu escrevera uma dedicatória: Para a Louki das zonas
neutras. Não sei o que pensou desta obra. Não creio que a tenha lido até ao fim. Era um texto algo rebarbativo, uma enumeração por bairros com os nomes das ruas
que delimitavam estas zonas neutras. Às vezes, um quarteirão de casas, ou então uma extensão muito mais vasta. Numa tarde em que nos encontrávamos os dois no Condé,
ela leu a dedicatória e disse-me: "Sabes, Roland, poderíamos ir viver uma semana em cada um dos bairros de que falas..."
pag. 82
A rue d' Argentine, onde eu morava num quarto de hotel, era de facto uma zona neutra. Quem poderia ir ali descobrir-me? As raras pessoas com quem então me cruzava
deviam estar mortas para o registo civil. Um dia, folheando um jornal, deparei com a rubrica "publicações judiciárias" com uma notícia local cujo título era: "Declaração
de Ausência". Um certo Tarride não regressara ao seu domicílio nem dava notícias há trinta anos, e o tribunal de grande instância declarara-o "ausente". Mostrei
o anúncio a Louki. Estávamos no meu quarto, rue d'Argentine. Disse-lhe que tinha a certeza de que o tipo morava na minha rua, como dezenas de outros, também declarados
"ausentes". De resto, nos prédios mais próximos do meu hotel lia-se a inscrição "apartamentos mobilados". Locais de passagem onde não se pedia a identidade a ninguém
e onde qualquer pessoa podia esconder-se. Naquele dia, tínhamos festejado com os outros, no Condé, o aniversário de la Houpa. Bebemos. Regressámos ao quarto ligeiramente
embriagados. Abri a janela. Gritei o mais alto possível: "Tarride! Tarride!..." A rua estava deserta e o nome ressoava de maneira estranha. Dava mesmo a impressão
de ser repercutido por um eco. Louki pôs-se ao meu lado e também gritou: "Tarride!... Tarride!..." Uma brincadeira de crianças que nos fazia rir. Mas eu acabara
por acreditar que aquele homem se manifestaria e nós ressuscitaríamos todos os ausentes que habitavam a rua. Passado algum tempo, o porteiro do hotel bateu à nossa
porta. Numa voz de além-túmulo, disse: "Um pouco de silêncio, por favor." Ouvimo-lo descer a escada num passo pesado. Então, concluí que ele próprio era um ausente
como o tal Tarride e todos os que se escondiam nos alojamentos mobilados da rue d'Argentine.
pag. 83
Pensava neles sempre que percorria a rua para entrar no meu quarto. Louki dissera-me que, antes de se casar, também vivera em dois hotéis daquele bairro, um pouco
mais a norte, na rue d'Armaillé, e depois na rue de L'Étoile. Nessa época, devemos ter-nos cruzado sem nos vermos.
Lembro-me da noite em que ela decidiu não voltar para casa do marido. No Condé, nesse dia, apresentara-me Adamov e Ali Cherif. Eu transportava a máquina de escrever
que Zacharias me emprestara. Queria começar As Zonas Neutras.
Pousei a máquina na pequena mesa de pinho do quarto. Tinha na cabeça a primeira frase: "As zonas neutras têm pelo menos esta vantagem: são apenas um ponto de partida
e, mais tarde ou mais cedo, abandonamo-las." Sabia que, diante da máquina de escrever, tudo seria muito menos simples. Teria com certeza de eliminar esta primeira
frase. E a seguinte. E no entanto, sentia-me cheio de coragem.
Ela devia ir jantar a Neuilly, mas às oito horas ainda estava deitada em cima da cama. Não acendera o candeeiro da mesa-de-cabeceira. Acabei por lhe recordar que
eram horas.
- Horas de quê?
Pelo tom de voz, percebi que nunca mais apanharia o metro para descer na estação Sablons. Um longo silêncio entre nós. Sentei-me em frente da máquina de escrever
e premi as teclas.
- Podíamos ir ao cinema - sugeriu ela. - Para passar o tempo.
Bastava atravessar a avenue de la Grande-Armée e estávamos no Estúdio Obligado. Naquela noite, nenhum de nós prestou atenção ao filme. Creio que havia poucos espectadores
na sala. Algumas pessoas há muito declaradas "ausentes" por um tribunal?
pag. 84
E nós próprios, quem éramos? De vez em quando, voltava-me para ela. Não olhava para o ecrã, baixara a cabeça e parecia absorta nos seus pensamentos. Eu receava vê-la
levantar-se e regressar a Neuilly. Mas não. Ficou até ao fim do filme.
À saída do Estúdio Obligado, parecia aliviada. Disse-me que, àquela hora, era demasiado tarde para regressar a casa do marido. Naquele dia, ele convidara alguns
amigos para jantar. Acabara-se, portanto. Não haveria mais jantares em Neuilly.
Não voltámos logo de seguida ao quarto. Deambulámos demoradamente por aquela zona neutra em que nos refugiáramos os dois, em períodos diferentes. Ela quis mostrar-me
os hotéis em que vivera, rue d'Armaillé e rue de l'Étoile. Procuro recordar o que me disse naquela noite. Foi confuso. Apenas frases soltas. Hoje, é demasiado tarde
para reencontrar os pormenores que faltam ou que esqueci. Abandonara muito nova a mãe e o bairro onde vivia com ela. A mãe morrera. Restava-lhe uma amiga daquele
período com quem se encontrava de vez em quando, uma tal Jeannette Gaul. Jantámos duas ou três vezes com ela na rue d'Argentine, no restaurante degradado ao lado
do meu hotel. Uma loura de olhos verdes. Louki dissera-me que lhe chamavam Caveira por causa do rosto macilento que contrastava com um corpo de curvas generosas.
Mais tarde, Jeannette Gaul visitava-a no hotel da rue Cels e eu devia ter-me interrogado no dia em que as surpreendi no quarto no qual pairava um cheiro a éter.
E depois numa tarde de brisa e sol nos cais, em frente de Notre-Dame... Eu remexia os livros das caixas dos vendedores enquanto esperava pelas duas. Jeannette Gaul
dissera que marcara encontro na rue des Grands-Degrés com alguém que lhe levaria "um pouco de neve"... Sorria, ao proferir a palavra "neve", estando nós no mês de
Julho...
pag. 85
Numa das caixas verdes dos vendedores de livros, deparei com um livro de bolso cujo título era O Verão(1). Sim, era um belo Verão, pois parecia-me eterno. E vi-as,
de repente, no outro passeio do cais. Vinham da rue des Grands-Degrés. Louki acenou-me com o braço. Caminhavam em direcção a mim, ao sol e em silêncio. É assim que
surgem muitas vezes nos meus sonhos, as duas, do lado de Saint-Julien-le-Pauvre... Creio que me sentia feliz, nessa tarde.
Não compreendia a razão por que chamavam Caveira a Jeannette Gaul. Por causa das maçãs do rosto salientes e dos olhos amendoados? Todavia, nada no seu rosto evocava
a morte. Ainda vivia a época em que a juventude é mais forte do que tudo. Nada - nem as noites de insónia, nem a neve, como ela dizia - deixava nela a mínima marca.
Por quanto tempo? Eu devia ter desconfiado dela. Louki não a levava ao Condé nem às reuniões de Guy de Vere, como se aquela rapariga fosse a sua parte de sombra.
Só as ouvi falar uma vez, na minha presença, do seu passado comum, e por meias palavras. Tinha a impressão de que partilhavam segredos. Num dia em que ia a sair
com Louki da estação de metro Mabillon - um dia de Novembro pelas seis horas da tarde, já anoitecera -, ela reconheceu alguém sentado a uma mesa por detrás da grande
fachada envidraçada do Pérgola. Esboçou um ligeiro movimento de recuo. Um homem de cerca de cinquenta anos, rosto severo e cabelo castanho colado à cabeça. Estava
quase de frente para nós e também podia ter-nos visto. Mas creio que conversava com alguém ao seu lado. Louki pegou-me no braço e arrastou-me para o outro lado da
rue du Four. Disse-me que conhecera aquele tipo dois anos antes, com Jeannette Gaul, e que ele se ocupava de um restaurante do IX.e arrondissement. Não esperava
nada encontrá-lo ali, na Margem Esquerda.
___________
1. Autor: Cesare Pavese. (N. da T.)
pag. 86
Parecia preocupada. Utilizara as palavras "Margem Esquerda" como se o Sena fosse uma linha de demarcação que separasse duas cidades estranhas uma à outra, uma espécie
de cortina de ferro. E o homem do Pérgola conseguira transpor a fronteira. A sua presença, ali no carrefour Mabillon, preocupava-a verdadeiramente. Perguntei-lhe
como se chamava o homem. Mocellini. E por que razão queria evitá-lo. Não me forneceu uma resposta clara. Simplesmente, aquele tipo trazia-lhe más recordações. Quando
cortava relações com alguém, era definitivo, como se, para ela, tivesse morrido. Se aquele homem ainda estava vivo e corria o risco de vir a enfrentá-lo, então seria
preferível mudar de bairro.
Tranquilizei-a. O Pérgola não era um café como os outros, e a sua clientela algo dúbia não correspondia de modo nenhum ao bairro de estudantes e boémios pelo qual
caminhávamos. Louki afirmara ter conhecido Mocellini no IX.e arrondissement? Pois bem, justamente, o Pérgola era uma espécie de anexo de Pigalle em Saint-Germain-des-Prés,
embora não se compreendesse muito bem porquê. Bastava mudar para o passeio do outro lado e evitar o Pérgola. Nenhuma necessidade de mudar de bairro.
Devia ter insistido com Louki para que se explicasse melhor, mas sabia mais ou menos o que ela me responderia, se estivesse disposta a responder... Na minha infância
e na minha adolescência convivera com tantos Mocellini, indivíduos sobre os quais nos perguntamos, mais tarde, a que tráficos se dedicariam... Não me cansara de
ver o meu pai na companhia de gente daquela? Passados tantos anos, poderia fazer investigações sobre o denominado Mocellini. Mas para quê? Não ficaria a saber nada
sobre Louki que não soubesse já, ou que adivinhara. Somos realmente responsáveis pelos comparsas que não escolhemos e com quem nos cruzamos no início da nossa vida?
pag. 87
Sou responsável pelo meu pai e por todas as sombras que falavam com ele em voz baixa nos halls de hotéis ou nas salas do fundo de cafés e que transportavam malas
cujo conteúdo me escaparia para sempre? Naquela noite, depois do imprevisível encontro, seguimos pelo boule-vard Saint-Germain. Quando entrámos na Livraria Vega,
Louki parecia aliviada. Levava uma lista de livros recomendados por Guy de Vere. Conservei essa lista. Dava-a a todos os que assistiam às suas reuniões. "Não são
obrigados a ler tudo ao mesmo tempo", costumava dizer. "Escolham um livro e leiam uma página por noite, antes de adormecer."
O Alter Ego Celeste
O Amigo de Deus no Oberland
Canto da Pérola
A Coluna da Aurora
Os Doze Salvadores do Tesouro de Luz
Órgãos ou Centros Subtis
O Roseiral do Mistério
O Sétimo Vale
Pequenos fascículos de capa verde-clara. De início, no meu quarto da rue d'Argentine, acontecia-nos lê-los em voz alta, eu e Louki. Era uma espécie de disciplina,
quando tínhamos o moral em baixo. Creio que não líamos as obras da mesma maneira. Louki esperava descobrir um sentido para a vida, quando era a sonoridade das palavras
e a música das frases que me cativavam. Naquela noite, na Livraria Vega, julgo que Louki esquecera o tal Mocellini e todas as más recordações que lhe evocava. Hoje,
apercebo-me de que não era apenas uma linha de conduta que ela procurava ao ler os fascículos verde-claros e a biografia de Louise du Néant.
pag. 88
Louki queria evadir-se, fugir cada vez para mais longe, romper de maneira brutal com a vida corrente, para respirar ao ar livre. E depois havia também o pânico,
de vez em quando, perante a perspectiva de encontrar os comparsas que ficaram para trás e que podem vir pedir contas. Tinha de se esconder para escapar a estes chantagistas
à espera do dia em que estivesse definitivamente fora do seu alcance. Lá no alto, muito em cima. Eu também passei a arrastar as más recordações e as imagens de pesadelo
da minha infância, que tencionava expulsar de uma vez para sempre.
Disse-lhe que era uma tolice mudar de passeio. Acabei por convencê-la. Dali em diante, à saída do metro Mabillon, deixámos de evitar o Pérgola. Certa noite, chegámos
mesmo a entrar no café. Estávamos de pé ao balcão e esperávamos Mocellini a pé firme. E todas as outras sombras do passado. Comigo, Louki nada teria a recear. Fixar
os fantasmas olhos nos olhos, não há melhor maneira de os eliminar. Creio que ela recobrava a confiança e que não se teria mexido se Mocellini tivesse aparecido.
Eu aconselhara-a a dizer-lhe numa voz segura a frase que me era familiar neste género de situação: "Não... Não sou eu... O senhor deve estar enganado... Lamento..."
Nessa noite, esperámos realmente que Mocellini aparecesse. E nunca mais o vimos através do vidro.
No mês de Fevereiro em que Louki não voltou para casa do marido, nevou muito e, na rue d'Argentine, sentíamo-nos isolados como num hotel de alta montanha. Apercebia-me
de que era difícil viver numa zona neutra. Realmente, seria preferível aproximarmo-nos do centro. O mais curioso na rue d'Argentine - mas eu referenciara outras
ruas de Paris que se lhe assemelhavam -, é que não correspondia ao bairro de que fazia parte.
pag. 89
Não correspondia a nada, estava desligada de tudo. Com aquela camada de neve, desembocava dos dois lados no vazio. Tenho de encontrar a lista das ruas que não se
limitam a ser zonas neutras, são igualmente buracos negros em Paris. Ou antes, estilhaços dessa matéria escura de que nos fala a astronomia, uma matéria que torna
tudo invisível e que resistiria mesmo aos ultravioletas, aos infravermelhos e aos raios X. Sim, com o tempo, arriscávamo-nos a ser aspirados pela matéria escura.
Louki não queria viver num bairro demasiado próximo do domicílio do marido. Só duas estações de metro. Procurava na Margem Esquerda um hotel próximo do Condé ou
do apartamento de Guy de Vere. Assim, poderia deslocar-se a pé. Eu, pelo meu lado, tinha medo de regressar ao outro lado do Sena, ao VI.e arrondissement da minha
infância. Tantas recordações dolorosas... Mas de que serve falar dele se, hoje, este bairro só existe para quem lá possui estabelecimentos de luxo e para os estrangeiros
ricos que lá compram apartamentos... Naquele tempo, ainda encontrava vestígios da minha infância: os hotéis degradados da rue Dauphine, o salão do catecismo, o café
do carrefour de L'Odéon onde traficavam alguns desertores das bases americanas, a escada obscura do Vert-Galant, e a inscrição na parede sebenta da rue Mazarine,
que eu lia sempre quando ia para a escola: -, NUNCA TRABALHEM.
Quando Louki alugou um quarto um pouco mais a sul, perto de Montparnasse, eu deixei-me ficar nas imediações da Étoile. Na Margem Esquerda, queria evitar cruzar-me
com fantasmas. Excepto no Condé e na Livraria Vega, preferia não me demorar no meu antigo bairro.
pag. 90
E depois era preciso descobrir algum dinheiro. Louki vendeu um casaco de peles que fora sem dúvida um presente do marido. Restava-lhe um impermeável demasiado leve
para enfrentar o Inverno. Lia os anúncios nos jornais como fizera antes de se casar. E, de vez em quando, ia a Auteuil visitar um mecânico, um antigo companheiro
da mãe, que a ajudava. Quanto a mim, mal me atrevo a confessar qual era o meu género de trabalho. Mas porque hei-de esconder a verdade?
No quarteirão do meu hotel vivia um certo Béraud-Bedoin. Exactamente no número 8 da rue de Saigon. Um alojamento mobilado. Cruzava-me muitas vezes com ele e não
me recordo da primeira vez que conversámos. Um indivíduo de aspecto duvidoso e cabelo ondulado, sempre vestido com algum requinte e afectando uma desenvoltura mundana.
Estava sentado à frente dele, a uma mesa do café-restaurante da rue d'Argentine, numa tarde daquele Inverno em que nevava em Paris. Confiara-lhe que queria "escrever"
depois de ele me fazer a pergunta habitual: "Então, que faz na vida?" Ele, Béraud-Bedoin, eu não compreendera muito bem qual era a sua razão social. Acompanhara-o,
naquela tarde, até ao seu "gabinete" - "muito perto daqui", como me dissera. Os nossos passos deixavam marcas na neve. Bastava caminhar a direito até à rue Chalgrin.
Consultei uma velha lista de telefones daquele ano para saber onde "trabalhava" exactamente aquele Béraud-Bedoin. Às vezes, lembramo-nos de certos episódios da nossa
vida e precisamos de provas para termos a certeza de que não estamos a sonhar. 14, rue Chalgrin. "Éditions commerciales de France." Devia ser ali. Hoje, não tenho
coragem para me deslocar e identificar o prédio. Estou demasiado velho. Naquele dia, não me convidou a subir ao seu escritório, mas encontrámo-nos no dia seguinte
à mesma hora, no mesmo café. Propôs-me um trabalho.
pag. 91
Tratava-se de escrever várias brochuras respeitantes a sociedades ou organismos dos quais era mais ou menos angariador ou agente publicitário, e que seriam impressas
pela sua editora. Pagar-me-ia cinco mil francos pela temporada. Era ele que assinava os textos. Eu serviria de "negro". Fornecer-me-ia toda a documentação. Foi assim
que trabalhei numa dezena de pequenos opúsculos, As Águas Minerais de La Bourboule, O Turismo na Costa Esmeralda, História dos Hotéis e dos Casinos de Bagnoles-de-l'Orme,
e em monografias consagradas aos bancos Jordaan, Seligmann, Mirabaud e Demachy. Sempre que me sentava à minha mesa de trabalho, tinha medo de adormecer de tédio.
Mas era muito simples, bastava alinhar em letra de forma as notas de Béraud-Bedoin. Fiquei surpreendido quando entrei pela primeira vez na sede das Éditions commerciales
de France: um compartimento num rés-do-chão sem janela, mas, na idade que então tinha, não é muito habitual interrogarmo-nos. Confiamos na vida. Dois ou três meses
mais tarde, deixei de ter notícias do meu editor. Pagara-me metade da quantia prometida, o que me satisfazia plenamente. Um dia - porque não amanhã se tiver forças
-, talvez devesse ir em peregrinação às ruas de Saigon e de Chalgrin, uma zona neutra onde Béraud-Bedoin e as Éditions commerciales de France se evaporaram naquele
Inverno. Mas não, pensando bem, não tenho realmente coragem. Pergunto-me mesmo se essas ruas ainda existirão ou se terão sido absorvidas de uma vez para sempre pela
matéria escura.
Prefiro subir a pé os Campos Elísios numa tarde de Primavera. Hoje em dia, já não existem verdadeiramente, mas, à noite, ainda criam ilusões. Nos Campos Elísios,
talvez ouvisse a tua voz chamar pelo meu nome...
pag. 92
No dia em que vendeste o casaco de peles e a esmeralda em cabochão, restavam-me cerca de dois mil francos do dinheiro de Béraud-Bedoin. Éramos ricos. Tínhamos o
futuro à nossa frente. Nessa noite, tiveste a gentileza de ir visitar-me ao bairro de l'Étoile. Era Verão, o mesmo em que nos encontrámos nos cais com a Caveira
e que vos vi avançar juntas em direcção a mim. Fomos ao restaurante da esquina da rue François-Ier e da rue Marbeuf. Havia mesas instaladas no passeio. Ainda estava
de dia. O trânsito diminuíra e ouvia-se o murmúrio das vozes e o barulho de passos. Pelas dez horas, quando descemos os Campos Elísios, perguntei-me se a noite cairia
alguma vez e se não seria uma noite branca como na Rússia e nos países do Norte. Caminhávamos sem objectivo preciso, tínhamos toda a noite à nossa frente. Ainda
restavam manchas de sol debaixo das arcadas da rue de Rivoli. O Verão estava a começar, partiríamos em breve. Para onde? Ainda não sabíamos. Talvez para Maiorca
ou para o México. Talvez para Londres ou Roma. Os locais não tinham nenhuma importância, confundiam-se uns com os outros. O único objectivo da nossa viagem consistia
em ir Ao CORAÇÃO DO VERÃO, onde o tempo pára e onde os ponteiros do relógio marcam para sempre a mesma hora: meio-dia.
No Palais-Royal, já anoitecera. Demorámo-nos um instante na esplanada do Ruc-Univers antes de retomar a caminhada. Ao longo da rue de Rivoli até Saint-Paul, fomos
seguidos por um cão. Depois, o cão entrou na igreja. Não nos sentíamos cansados e Louki disse-me que era capaz de caminhar a noite inteira. Atravessámos uma zona
neutra antes do Arsenal, algumas ruas desertas que nem sabíamos se seriam habitadas. No primeiro andar de um prédio, vimos duas grandes janelas iluminadas. Sentámo-nos
num banco, em frente, incapazes de deixar de olhar para as janelas. Era o candeeiro do quebra-luz vermelho, ao fundo, que derramava aquela luz surda.
pag. 93
Distinguia-se um espelho de moldura dourada na parede da esquerda. As outras paredes estavam despidas. Eu aguardava que uma silhueta passasse por detrás das janelas,
mas não, ninguém, aparentemente, naquele compartimento que não sabíamos se seria uma sala ou um quarto.
- Devíamos bater à porta do apartamento - disse-me Louki. - Tenho a certeza de que alguém nos espera.
O banco estava no centro de uma espécie de descampado formado pela intersecção de duas ruas. Anos mais tarde, encontrava-me num táxi que se deslocava ao longo do
Arsenal, em direcção aos cais. Pedi ao motorista que parasse. Queria ver o banco e o prédio. Esperava que as duas janelas do primeiro andar ainda estivessem iluminadas,
passado todo este tempo. Mas quase me perdi nas ruas estreitas que desembocavam nos muros da caserna dos Celestinos. Naquela noite, eu dissera que não valia a pena
bater à porta. Ninguém responderia. Além disso, estávamos ali bem, naquele banco. Ouvia mesmo correr a água de uma fonte, algures.
- Tens a certeza? - perguntou Louki. - Não ouço nada...
Éramos nós que vivíamos no apartamento, em frente. Tínhamo-nos esquecido de apagar a luz. E tínhamos perdido a chave. O cão de que falei há pouco devia estar à nossa
espera. Adormecera no nosso quarto e ali ficaria à nossa espera até ao fim dos tempos.
Mais tarde, caminhávamos para norte e, para não andarmos demasiado ao acaso, fixáramos um objectivo: a place de la Republique, mas sem termos a certeza de seguir
na direcção certa. Pouco importa, poderíamos sempre tomar o metro e regressar a Argentine, se nos perdêssemos. Louki disse-me que estivera muitas vezes naquele bairro,
durante a infância.
pag. 94
O companheiro da mãe, Guy Lavigne, tinha uma garagem nas proximidades. Sim, para os lados de la Republique. Parávamos em frente de todas as garagens, mas nunca era
aquela. Louki não encontrava o caminho. Na próxima visita a esse tal Guy Lavigne, em Auteuil, perguntar-lhe-ia o endereço exacto da antiga garagem antes que o tipo
morresse, também ele. Mesmo sem o parecer, era importante. Podemos acabar por não ter nenhum ponto de referência na vida. Louki lembrou-se de que a mãe e Guy Lavigne
a levavam, depois da Páscoa, aos sábados, à feira du Trone. Iam a pé por um grande boulevard interminável, semelhante ao que nós percorríamos. Era com certeza o
mesmo. Mas então estávamos a afastar-nos de la Republique. Nesses sábados, Louki caminhava com a mãe e Guy Lavigne até à orla do bois de Vincennes.
Era quase meia-noite e seria estranho encontrarmo-nos os dois em frente do gradeamento do jardim zoológico. Poderíamos ver os elefantes na penumbra. Mas ao fundo,
à nossa frente, abria-se uma clareira luminosa no meio da qual se erguia uma estátua. A place de la Republique. À medida que nos aproximávamos, ouvia-se uma música
cada vez mais alto. Um baile? Perguntei a Louki se estávamos a 14 de Julho. Tal como eu, não sabia. Nos últimos tempos, confundíamos os dias e as noites. A música
vinha de um café, quase na esquina do boulevard e da rue du Grand-Prieuré. Alguns clientes sentados na esplanada.
Era demasiado tarde para apanhar o último metro. Logo a seguir ao café, um hotel cuja porta estava aberta. Uma lâmpada sem quebra-luz iluminava uma escada íngreme
de degraus de madeira escura. O porteiro nem sequer nos pediu os nomes. Limitou-se a indicar-nos o número de um quarto no primeiro andar. "A partir de agora, talvez
pudéssemos viver aqui", disse eu a Louki.
pag. 95
Uma cama de solteiro, mas não demasiado estreita para nós. Nem cortinas nem persianas na janela. Deixámo-la entreaberta por causa do calor. Na rua, acabara-se a
música, e ouvíamos gargalhadas. Louki segredou-me ao ouvido:
- Tens razão. Devíamos ficar aqui para sempre.
Pensei que estávamos longe de Paris, num pequeno porto do Mediterrâneo. Todas as manhãs, à mesma hora, dirigíamo-nos para a praia. Fixei o endereço do hotel: rue
du Grand-Prieuré, número 2. Hotel Hivernia. Ao longo de todos os anos monótonos que se seguiram, quando me pediam o endereço ou o número de telefone, eu dizia: "Basta
escrever para o Hotel Hivernia, rue du Grand-Prieuré, número 2. A correspondência chegará às minhas mãos." Seria preciso ir buscar todas as cartas que há tanto tempo
me esperam e ficaram sem resposta. Tinhas razão, era ali que devíamos ter ficado para sempre.
pag. 96
Voltei a ver Guy de Vere uma última vez, muitos anos mais tarde. Na rua inclinada que desce em direcção ao Odéon, uma viatura pára ao meu lado e ouço alguém chamar-me
pelo meu antigo nome. Reconheço a voz antes de me voltar. Ele põe a cabeça de fora da janela aberta. Sorri-me. Não mudou. Excepto o cabelo, que usa mais curto.
Foi em Julho, às cinco da tarde. Estava calor. Sentámo-nos os dois a conversar no capot do automóvel. Não me atrevi a dizer-lhe que nos encontrávamos a escassos
metros do Condé e da porta pela qual Louki entrava sempre, a da sombra. Mas a porta já não existia. Deste lado, havia agora uma montra onde estavam expostas carteiras
de pele de crocodilo, botas, e mesmo uma sela e chicotes. Au Prince de Condé. Marroquinaria.
- Então, Roland, que é feito de si?
Continuava a ter a mesma voz clara, a que, para nós, tornava acessíveis os textos mais herméticos, quando no-los lia. Sensibilizou-me que se lembrasse de mim e do
nome que usava naquela época. Compareciam tantas pessoas às suas reuniões, square Lowendal... Algumas iam uma vez, por curiosidade, outras eram muito assíduas. Louki
incluía-se entre estas. E eu também. Guy de Vere, porém, não procurava nenhum discípulo.
pag. 97
Não se considerava, de modo nenhum, um mestre pensador e recusava-se a exercer um qualquer domínio sobre os outros. Eram estes que o procuravam, sem serem solicitados.
Às vezes, adivinhava-se que teria preferido ficar sozinho a fantasiar, mas não era capaz de lhes recusar o que quer que fosse, sobretudo a sua ajuda para que vissem
mais claro dentro deles.
- E o senhor, está de regresso a Paris?
De Vere riu-se e dirigiu-me um olhar irónico.
- Sempre o mesmo, Roland... Responde a uma pergunta com outra pergunta...
Também não se esquecera desta faceta. Costumava troçar de mim a este respeito. Dizia-me que, se eu fosse pugilista, teria sido um mestre na esquiva.
- ...Há muito tempo que não vivo em Paris, Roland... Agora vivo no México... Hei-de dar-lhe o meu endereço...
No dia em que fui verificar se havia realmente hera no rés-do-chão do seu antigo prédio, pedi à porteira o endereço de Guy de Vere, se porventura o conhecesse. Ela
respondeu-me simplesmente: "Partiu sem deixar nenhum endereço." Contei-lhe a minha peregrinação à square Lowendal.
- É incorrigível, Roland, com essa história da hera... Conheci-o muito novo, não? Que idade tinha?
- Vinte anos.
- Pois bem, creio que já nessa idade andava à procura da hera perdida. Engano-me?
O seu olhar não me largava e velava-se de uma sombra de tristeza. Talvez pensássemos na mesma coisa, mas eu não me atrevia a proferir o nome de Louki.
- É estranho - disse-lhe. - No tempo das nossas reuniões, eu ia muitas vezes àquele café que deixou de ser um café.
pag. 98
E apontei para a marroquinaria, Au Prince de Condé, a poucos metros de nós.
- É verdade - observou ele. - Paris mudou muito nestes últimos anos.
Olhava-me de sobrancelhas franzidas, como se quisesse recordar um acontecimento antigo.
- Continua a interessar-se pelas zonas neutras?
A pergunta surgira de forma tão abrupta que não compreendi logo de imediato ao que aludia.
- Era muito interessante, o seu texto sobre as zonas neutras...
Meu Deus, que memória... Esquecera-me de que lhe dera a ler o texto. Uma noite, no fim de uma das reuniões em sua casa, eu e Louki deixámo-nos ficar para trás. Eu
perguntara-lhe se não teria um livro sobre o Eterno Retorno. Encontrávamo-nos no escritório e ele lançou uma vista de olhos pelas prateleiras da estante. Acabou
por encontrar um livro de capa a branco e preto: Nietzsches philosophie der ewigen wiederkehr des gleichen(1), que me deu e que li com muita atenção nos dias que
se seguiram. No bolso do casaco, as poucas páginas dactilografadas respeitantes às zonas neutras. Queria dar-lhas para saber a sua opinião, mas hesitava. Foi antes
de sair, já no patamar, que me decidi, num gesto brusco, a estender-lhe o envelope no qual guardara as escassas páginas - sem lhe dizer uma palavra.
- Também se interessava por astronomia - disse ele. - Em particular pela matéria escura...
Nunca teria imaginado que também se lembrasse disso. No fundo, sempre prestara muita atenção aos outros, mas sem o deixar transparecer.
1. Autor: Karl Lowith. Nietzsche: Philosophie de l'Éternel Retour du même, na tradução francesa. (N. da T.)
pag. 99
- É pena - comentei eu - que não haja uma reunião esta noite na square Lowendal, como dantes...
Mostrou-se surpreendido pelas minhas palavras. Sorriu-me.
- Sempre a mesma obsessão pelo Eterno Retorno... Começáramos a caminhar de um lado para o outro, no passeio, e os nossos passos levavam-nos sempre até à marroquinaria,
Au Prince de Condé.
- Lembra-se do dia em que houve uma avaria de electricidade em sua casa e teve de nos falar às escuras? - perguntei.
- Não.
- Vou confessar-lhe uma coisa. Nessa noite, fui acometido de uma crise de riso que quase não contive.
- Devia ter-se rido - disse-me ele num tom de censura. - O riso é comunicativo. Ter-nos-íamos rido todos, às escuras.
Olhou para o relógio.
- Vou ser obrigado a deixá-lo. Preciso de ir fazer as malas. Parto amanhã. E nem sequer tive tempo de lhe perguntar o que faz actualmente.
Retirou uma agenda do bolso interior do casaco e rasgou uma folha.
- Deixo-lhe o meu endereço no México. Devia ir visitar-me.
Adquirira subitamente um tom imperativo, como se quisesse arrastar-me com ele e salvar-me de mim próprio. E do presente.
- Além disso, continuo a organizar reuniões. Vá visitar-me. Conto consigo.
Estendia-me a folha de papel.
pag. 100
- Também tem o meu número de telefone. Desta vez, não podemos perder-nos de vista.
Dentro do automóvel, voltou a pôr a cabeça de fora da janela aberta.
- Diga-me uma coisa... Penso muitas vezes em Louki... Nunca compreendi por que razão...
Estava emocionado. Ele, que falava sempre sem hesitar e de forma tão clara, procurava as palavras.
- É estúpido, o que lhe vou dizer... Não há nada a compreender... Quando amamos verdadeiramente alguém, importa aceitar a sua parte de mistério... E é por isso que
amamos... Hem, Roland?...
A viatura arrancou bruscamente, sem dúvida para esconder a emoção. A dele e a minha. Ainda teve tempo de me dizer:
- Até muito em breve, Roland.
Fiquei sozinho em frente da marroquinaria, Au Prince de Condé. Colei a testa à montra para ver se restava um qualquer vestígio do café: um tabique, a porta do fundo
que dava acesso ao telefone de parede, a escada em caracol que conduzia ao pequeno apartamento de Mm.e Chadly. Nada. Tudo arrasado e forrado de tecido cor de laranja.
E era tudo assim, no bairro. Pelo menos, não corríamos o risco de deparar com fantasmas. Os próprios fantasmas tinham morrido. Nada a recear à saída do metro Mabillon.
Nem o Pérgola, nem Mocellini por detrás do vidro.
Caminhava numa passada larga como se tivesse chegado numa noite de Julho a uma cidade estrangeira. Começara a assobiar a ária de uma canção mexicana. Mas esta falsa
descontracção não durou muito tempo. Ladeava as grades do jardim do Luxemburgo e o refrão de Ay Jalísco no te rajes... extinguiu-se nos meus lábios.
pag. 101
Um anúncio colado no tronco de uma das grandes árvores que nos protegem sob as suas ramagens até à entrada do jardim, lá no cimo, em Saint-Michel. "Esta árvore é
perigosa. Será abatida brevemente. E substituída no próximo Inverno." Durante alguns instantes, julguei tratar-se de um pesadelo. Fiquei ali, petrificado, a ler
e reler aquela condenação à morte. Um transeunte parou para me perguntar: "O senhor sente-se mal?", depois afastou-se, com certeza decepcionado pelo meu olhar fixo.
Neste mundo onde tinha cada vez mais a impressão de ser um sobrevivente, também se decapitavam árvores... Prossegui o meu caminho procurando pensar noutra coisa,
mas era difícil. Não consegui esquecer aquele anúncio e a árvore condenada à morte. Perguntava-me como seriam as caras dos membros do tribunal e do carrasco. Recobrei
a calma. Para me reconfortar, imaginava que Guy de Vere caminhava ao meu lado e me repetia na sua voz doce: "...Não, Roland, foi um pesadelo... ninguém decapita
árvores..."
Ultrapassara o portão de entrada para o jardim e prosseguia pela parte do boulevard que conduz a Port-Royal. Certa noite, eu e Louki tínhamos acompanhado até ali
um rapaz da nossa idade que conhecêramos no Condé. Apontara, do lado direito, para o edifício da Escola Superior de Minas, declarando numa voz triste, como se a
confissão lhe pesasse, que era aluno daquela escola.
- Acham que devo continuar?
Eu sentira que ele esperava um encorajamento da nossa parte para o ajudar a dar o salto. Disse-lhe: "Claro que não, meu caro, não continues... solta as amarras..."
Ele voltara-se para Louki. Também aguardava a sua opinião. Louki explicara-lhe que, depois de lhe terem recusado a matrícula no liceu Jules-Ferry, desconfiava muito
das escolas. Creio que esta resposta tinha acabado de o convencer.
pag. 102
No dia seguinte, no Condé, dissera-nos que, para ele, a Escola Superior de Minas passara à história.
Eu e Louki seguíamos muitas vezes aquele caminho para regressar ao hotel dela. Fazíamos um desvio, mas estávamos habituados a caminhar. Seria realmente um desvio?
Não, pensando bem, uma linha recta em direcção ao interior. À noite, caminhando pela avenue Denfert-Rochereau, estávamos numa cidade de província, por causa do silêncio
e de todos os hospícios religiosos cujos portões se sucediam. Há dias, segui a pé pela rua ladeada de plátanos e de muros altos que divide ao meio o cemitério de
Montparnasse. Também era o caminho do seu hotel. Lembro-me de que ela preferia evitá-lo, e era por isso que passávamos por Denfert-Rochereau. Mas, nos últimos tempos,
já não tínhamos medo de nada e achávamos que aquela rua que corta o cemitério tinha um certo encanto, à noite, sob a abóbada formada pela folhagem. Àquela hora,
não passava por ali nenhuma viatura e nunca nos cruzávamos com ninguém. Esquecera-me de a inscrever na lista das zonas neutras. Era mais uma fronteira. Quando chegávamos
ao fim, entrávamos num país em que estávamos ao abrigo de tudo. Na semana passada, não era de noite quando por ali passei, mas de tarde. Não voltara lá desde que
passeávamos juntos ou ia ver-te ao hotel. Por alguns instantes, tive a ilusão de que te encontraria para além do cemitério. Seria ali o Eterno Retorno. O mesmo gesto
de antigamente para receber, na recepção, a chave do teu quarto. A mesma escada íngreme. A mesma porta branca com um número: 11. A mesma expectativa. E depois os
mesmos lábios, o mesmo perfume e a mesma cabeleira que se solta em cascata.
Ainda ouvia de Vere dizer-me a respeito de Louki:
- Nunca compreendi por que razão... Quando amamos verdadeiramente alguém, importa aceitar a sua parte de mistério...
pag. 103
Que mistério? Eu estava convencido de que nos assemelhávamos, pois tínhamos muitas vezes transmissões de pensamento. Vivíamos em sintonia. Nascidos no mesmo ano
e no mesmo mês. Todavia, tenho de reconhecer que havia uma diferença entre nós.
Não, eu também não consigo compreender... Sobretudo quando recordo as últimas semanas. O mês de Novembro, os dias mais curtos, as chuvas de Outono, nada disso parecia
perturbar o nosso moral. Fazíamos mesmo projectos de viagem. E depois, reinava um ambiente divertido no Condé. Já não sei quem introduzira entre os clientes habituais
aquele Bob Storms que se dizia poeta e encenador de Antuérpia. Talvez Adamov? Ou Maurice Raphael? Fez-nos rir, esse Bob Storms. Tinha um fraco por Louki e por mim.
Queria que passássemos o Verão na sua grande casa de Maiorca. Aparentemente, não tinha preocupações de ordem material. Dizia-se que coleccionava quadros... Diz-se
tanta coisa... E depois, um dia, as pessoas desaparecem e apercebemo-nos de que não sabíamos nada delas, nem sequer a sua verdadeira identidade.
Porque me acode tão nitidamente à ideia a silhueta maciça de Bob Storms? Nos instantes mais tristes da vida, há muitas vezes uma nota discordante e ligeira, uma
figura de bufão flamengo, um Bob Storms que passa e podia ter esconjurado a desgraça. Ficava de pé ao balcão, como se as cadeiras de pau pudessem ceder ao seu peso.
Era tão alto que a sua corpulência nem se via. Sempre vestido com uma espécie de casaco de veludo cujo negro contrastava com a barba e o cabelo ruivos. E com um
capote da mesma cor. Na noite em que o vimos pela primeira vez, dirigira-se à nossa mesa, olhando-nos de alto a baixo, a mim e a Louki.
pag. 104
Depois sorriu e segredou, debruçando-se sobre nós: "Companheiros dos maus dias, desejo-vos uma boa noite." Quando se apercebeu de que eu sabia um grande número de
poemas, quis entregar-se a uma espécie de concurso comigo. Ganharia quem tivesse a última palavra a dizer. Recitava um verso, eu recitava outro, e assim por diante.
As sessões duravam muito tempo. Eu não tinha nenhum mérito. Era uma espécie de analfabeto, sem nenhuma cultura geral, mas que decorara poemas, como as pessoas que
tocam trechos de música ao piano ignorando o solfejo. Bob Storms tinha sobre mim esta vantagem: também conhecia todo o repertório da poesia inglesa, espanhola e
flamenga. De pé ao balcão, lançava-me em ar de desafio:
I hear the Shadowy Horses, their long manes a-shake
ou então:
Como todos los muertos que se olvidan
En un montón de perros apagados
ou ainda:
De burgemeester heeft ons iets misdaan,
Wij leerden, door zijn schuld, het leven haten.
Um tanto cansativo, mas um tipo simpático, muito mais velho do que nós. Gostaria que me tivesse contado as suas vidas anteriores. Respondia sempre às minhas perguntas
de forma evasiva. Quando se sentia alvo de curiosidade excessiva, a sua exuberância desaparecia bruscamente como se tivesse alguma coisa a esconder ou quisesse baralhar
as pistas. Não respondia e acabava por romper o silêncio dando uma gargalhada.
pag. 105
Houve uma festa em casa de Bob Storms. Convidou-nos a mim e a Louki, com os outros: Annet, Don Carlos, Bowing, Zacharias, Mireille, la Houpa, Ali Cherif e aquele
que tínhamos convencido a abandonar a Escola de Minas. Outros convivas, mas eu não os conhecia. Bob Storms morava num apartamento no quai d'Anjou cujo andar superior
era um imenso atelier. Foi ali que nos recebeu para nos ler uma peça que pretendia encenar: Hop Signor! Nós os dois chegámos antes dos outros e senti-me impressionado
pelos candelabros que iluminavam o atelier, pelas marionetas sicilianas e flamengas penduradas nas vigas do tecto, pelos espelhos e móveis Renascença. Bob Storms
envergava o casaco de veludo preto. Uma grande janela envidraçada dava para o Sena. Num gesto protector, enlaçou-me a mim e a Louki pelos ombros e disse-nos a sua
frase ritual:
Companheiros dos maus dias,
desejo-vos uma boa noite.
Em seguida, retirou um envelope do bolso e estendeu--mo. Explicou-nos que eram as chaves da casa de Maiorca e que devíamos partir o mais depressa possível. E ficar
lá até Setembro. Achava-nos com mau aspecto. Que estranha noite... A peça só tinha um acto e os actores leram-na num instante. Nós estávamos sentados à volta deles.
De vez em quando, durante a leitura, a um sinal de Bob Storms, tínhamos de gritar todos, como se fizéssemos parte de um coro: "Hop, Signor!..." O álcool circulava
generosamente. E outras substâncias venenosas. No meio do vasto salão do andar inferior, tinha sido montado um buffet. Era o próprio Bob Storms que servia as bebidas
em taças de metal e de cristal.
pag. 106
Cada vez mais gente. Num determinado momento, Storms apresentou-me um homem da mesma idade que ele mas muito mais baixo, um escritor americano, um tal James Jones
que disse ser "vizinho do mesmo patamar". Eu e Louki acabámos por não saber muito bem o que fazíamos ali, no meio de todos aqueles desconhecidos. Cruzamo-nos com
tanta gente nos nossos começos de vida, que nunca conheceremos nem saberemos de quem se trata.
Esgueirámo-nos para a saída. Tínhamos a certeza de que ninguém se aperceberia da nossa ausência naquela confusão. Mas mal atravessámos a porta do salão Bob Storms
interpelou-nos:
- Então... vão-se embora, meninos?
Sorria como habitualmente, um sorriso aberto que o fazia parecer, tão alto e com aquela barba, uma personagem da Renascença ou do tempo de Luís XIV, Rubens ou Buckingham.
E no entanto, o seu olhar deixava transparecer alguma inquietação.
- Entediaram-se muito?
- Oh, não - respondi. - Correu tudo muito bem, Hop Signor...
Abraçou-nos pelos ombros com os dois braços, a mim e a Louki, como fizera no atelier.
- Então, espero ver-vos amanhã...
Arrastava-nos para a porta, sempre enlaçados pelos ombros.
- E, sobretudo, partam depressa para Maiorca, precisam de apanhar ar... Dei-vos as chaves da casa...
No patamar, olhou-nos demoradamente aos dois. Depois recitou-me:
O céu é como a tenda rasgada de um circo pobre.
pag. 107
Eu e Louki descíamos a escada e ele continuava debruçado do corrimão. Esperava que lhe recitasse um verso, em resposta ao dele, como fazíamos habitualmente. Mas
não me ocorreu nada.
Tenho a impressão de que confundo as estações. Alguns dias depois desta festa, acompanhei Louki a Auteuil. Creio que era Verão, ou então Inverno, uma dessas manhãs
límpidas de frio, sol e céu azul. Ela queria visitar Guy Lavigne, o homem que fora companheiro da mãe. Preferi ficar à espera dela. Marcámos encontro para "dali
a uma hora", à esquina da rua da garagem. Julgo que tencionávamos sair de Paris por causa das chaves que Bob Storms nos dera. Às vezes, sentimos um aperto no coração
ao pensar em coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, mas ainda hoje penso que a casa continua vazia, à nossa espera. Estava satisfeito, naquele dia.
E leve. Experimentava uma certa embriaguez. Via a linha do horizonte ao longe, à nossa frente, na direcção do infinito. Uma garagem ao fundo de uma rua calma. Arrependi-me
de não ter acompanhado Louki a casa de Lavigne. Talvez nos emprestasse uma viatura para descermos rumo ao sul.
Vi-a sair da pequena porta da garagem. Acenou-me com o braço, exactamente como da outra vez, quando as esperava, ela e Jeannette Gaul, no Verão, junto aos cais.
Louki avança na minha direcção com o mesmo andar descontraído, e dir-se-ia que abranda o passo, como se o tempo deixasse de contar. Dá-me o braço e passeamos pelo
bairro. É aqui que viveremos, um dia. De resto, sempre ali vivemos. Percorremos ruas estreitas, atravessamos uma rotunda deserta. A aldeia de Auteuil separa-se suavemente
de Paris. Aqueles prédios de cor ocre ou bege podiam ser na Cote dAzur, e os muros, perguntamo-nos se escondem um jardim ou a orla de uma floresta. Chegámos à place
de 1'Église, em frente da estação de metro.
pag. 108
E ali, posso dizê-lo agora que já nada tenho a perder, senti, pela única vez da minha vida, o que era o Eterno Retorno. Até então, esforçara-me por ler obras sobre
o assunto, com uma boa vontade de autodidacta. Foi precisamente antes de começar a descer as escadas da estação de metro Église-Auteuil. Porquê naquele sítio? Não
sei e não tem nenhuma importância. Parei momentaneamente e apertei-lhe o braço. Estávamos ali, juntos, no mesmo lugar, para a eternidade, e o nosso passeio por Auteuil,
já o tínhamos dado em mil e uma outras vidas. Nenhuma necessidade de olhar para o relógio. Sabia que era meio-dia.
Aconteceu em Novembro. Num sábado. De manhã e de tarde, fiquei em casa a trabalhar sobre as zonas neutras. Queria desenvolver as quatro páginas, escrever pelo menos
trinta. Provocaria o efeito bola de neve e poderia atingir as cem páginas. Tinha encontro marcado com Louki no Condé, às cinco horas. Decidira sair nos próximos
dias da rue d'Argentine. Julgava-me definitivamente curado das chagas da minha infância e da minha adolescência e assim, doravante, não havia razões para continuar
escondido numa zona neutra.
Caminhei até à estação de metro Étoile. Era a linha que eu e Louki percorríamos muitas vezes para ir às reuniões de Guy de Vere, a linha que seguíramos a pé na primeira
vez. Durante a travessia do Sena, reparei que havia muita gente a passear pela allée des Cygnes. Mudança em La Motte-Picquet-Grenelle.
Desci em Mabillon e lancei um olhar em direcção ao Pérgola, como costumávamos fazer. Mocellini não estava sentado por detrás do vidro.
Quando entrei no Condé, os ponteiros do relógio redondo da parede do fundo marcavam exactamente cinco horas.
pag. 109
Em geral, ali, é uma hora morta. As mesas estavam livres, excepto a que se situava ao lado da porta, à qual se sentavam Zacharias, Annet e Jean-Michel. Olharam-me
de uma maneira estranha. Não disseram nada. Os rostos de Zacharias e Annet estavam lívidos, com certeza por causa da luz que entrava pela janela. Não responderam
quando lhes disse bom-dia. Fixaram-me daquela maneira estranha, como se eu tivesse feito algum mal. Os lábios de Jean-Michel contraíram-se e senti que queria falar
comigo. Uma mosca pousou nas costas da mão de Zacharias e ele enxotou-a com um gesto nervoso. Depois pegou no copo e bebeu o conteúdo de um trago. Levantou-se e
avançou em direcção a mim. Disse-me numa voz átona: "Louki. Lançou-se da janela abaixo."
Tive medo de me enganar no caminho. Passei por Raspail e pela rua que corta o cemitério. Ao fundo, fiquei sem saber se devia continuar a caminhar em frente ou seguir
pela rue Froidevaux. Segui pela rue Froidevaux. A partir daquele momento, houve uma ausência na minha vida, um clarão que não só me causou uma sensação de vazio,
como me impediu de ver. Toda aquela claridade cintilava em mim como uma luz viva, radiosa. E assim será, até ao fim.
Muito mais tarde, em Broussais, encontrava-me numa sala de espera. Um homem de cerca de cinquenta anos, cabelo grisalho espetado e que usava um sobretudo com dragonas,
também aguardava sentado num banco, do outro lado da sala. Além de mim e dele, não havia mais ninguém. A enfermeira veio dizer-me que Louki morrera. O homem aproximou-se
como se a informação lhe dissesse respeito. Pensei que fosse Guy Lavigne, o companheiro da mãe que Louki ia visitar à garagem, em Auteuil. Perguntei-lhe:
- O senhor é Guy Lavigne?
Ele meneou a cabeça.
pag. 110
- Não. Chamo-me Pierre Caisley.
Saímos juntos de Broussais. Anoitecera. Caminhávamos lado a lado ao longo da rue Didot.
- E o senhor é Roland, suponho?
Como podia ele saber o meu nome? Custava-me caminhar. Aquele clarão, aquela luz radiosa à minha frente...
- Ela não deixou nenhuma carta? - perguntei.
- Não. Nada.
Foi ele que me contou tudo. Ela estava no quarto com uma tal Jeannette Gaul, a quem chamavam Caveira. Mas como sabia ele a alcunha de Jeannette? Saíra para a varanda.
Passara uma perna por cima da balaustrada. A outra tentara retê-la puxando-a pela bainha do roupão. Mas fora demasiado tarde. Teve tempo de proferir algumas palavras,
como se falasse consigo mesma para ganhar coragem:
- Já está. Deixa-te ir.
Patrick Modiano
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















