



Biblio VT




...A multidão lembrava a vaga escura dum oceano que acaba de ser despertado pela primeira rajada da tempestade; deslizava lentamente para a frente e os rostos cinzentos das pessoas assemelhavam-se à crista, torva e cheia de espuma, da onda.
Os olhos brilhavam de excitação, mas as pessoas olhavam-se como se não acreditassem na sua própria decisão, como se a sua própria atitude os espantasse. Sobre a multidão rodopiavam as palavras, semelhantes a aves sem peso e sem brilho. Falava-se em voz contida, com seriedade, como se cada um se procurasse justificar perante os outros.
- Viemos porque não se pode aguentar mais...
- O povo não se mexe sem um motivo forte...
- Será possível que "ele" não compreenda?
Falava-se sobretudo "dele", garantiam uns aos outros que "ele" era cordial e bondoso, e que compreendia tudo. Mas as palavras que serviam para lhe pintar a imagem eram descoloridas. Sentia-se que há muito tempo, talvez desde sempre, não pensavam "nele" seriamente, não o representavam como um ser vivo, real; não sabiam bem quem era e compreendiam com dificuldade para que servia e o que podia fazer. Mas hoje "ele" era necessário, todos se apressavam a compreendê-lo e, sem "o" conhecer na realidade, compunham na sua imaginação, sem o desejarem conscientemente, algo de colossal. As esperanças eram grandes, para se apoiarem necessitavam também de algo incomum.
De vez em quando uma voz de homem, audaciosa, soava na multidão:
- Camaradas! Não se enganem a si próprios...
Mas a ilusão era indispensável e a voz isolada era abafada pelo tumulto de gritos assustados e irritados:
- Queremos tudo às claras!
- Cala-te, amigo!...
- De resto, o pope (2) Gapone...
- Ele é que sabe...
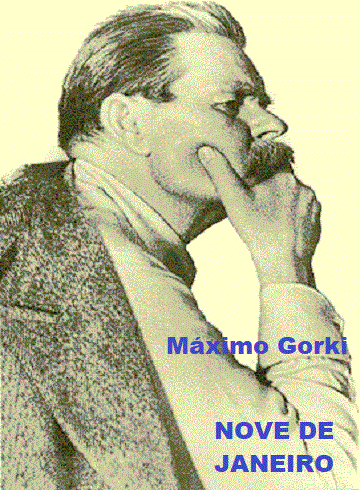
A multidão hesitante marulhava no canal da rua onde se fragmentava em grupos isolados; as vozes zumbiam, discutindo e argumentando, a turba acotovelava-se contra as paredes dos prédios e voltava a invadir o meio da calçada, sombria massa líquida onde se sentia o fermentar confuso das dúvidas, onde se detectava a expectativa nervosa do que iluminaria o caminho que leva ao objectivo por meio da fé no sucesso e que, por ela, fundiria e uniria todos esses fragmentos num todo único, harmonioso e sólido. Tentava-se, sem o conseguir, dissimular o cepticismo que se manifestava por uma inquietação confusa aliada a uma extrema receptividade aos ruídos. Prestava-se atenção com um ouvido circunspecto, olhava-se para diante procurando obstinadamente alguma coisa. As vozes dos que acreditavam na sua força interior e não em outra qualquer fora deles, suscitavam na multidão um receio irritado, eram demasiado ásperas para seres seguros dos seus direitos, a medir-se em debate franco com aquela força que queria ver.
Transbordando de rua em rua, a massa humana crescia a um ritmo vertiginoso, e esse aumento exterior provocava pouco a pouco a sensação de um crescimento interior, despertava a consciência dos direitos do povo-escravo em implorar à autoridade que prestasse atenção ao seu infortúnio.
- Quer queiram, quer não, também somos homens...
- "Ele" compreenderá. Imploraremos...
- Deve compreender. Não nos revoltamos...
- Além disso, o pope Gapone...
- Camaradas! A liberdade não se implora...
- Oh, meu Deus!
- Espera aí, amigo!
- Calem esse demónio!
- O pope Gapone sabe melhor o que se deve fazer...
- Quando a fé é necessária aos homens, aparece...
Um homem alto, com um sobretudo escuro, remendado no ombro com um pedaço de tecido ruço, subiu para um marco e, tirando da cabeça calva o boné, começou a falar bastante alto, num tom solene, com uma chama nos olhos e um tremor na voz. Falava "dele", do czar.
Mas no tom e nas palavras que empregava não se sentia mais do que um entusiasmo afectado, não vibrava no discurso aquele sentimento que pode, comunicando-se aos outros, quase produzir milagres. O homem tinha o ar de quem se força para despertar e chamar à memória uma imagem que desde há muito perdera a personalidade, uma imagem a que o tempo apagara qualquer sombra de vida. Ela estivera sempre longe do homem, mas agora o homem necessitava dela, pretendia colocar nela todas as suas esperanças.
E assim, pouco a pouco, reanimavam o morto. A multidão ouvia com atenção: aquele homem reflectia os seus desejos e ela sentia-o. Embora aquela fabulosa representação da força se não fundisse com nitidez com a "sua" imagem, todos sabiam no entanto que tal força existia, que devia existir. O orador encarnava-a no ser que todos conheciam pelas ilustrações dos calendários, ligava-a à imagem que conheciam através dos contos e, nesses contos, a imagem era humana. As palavras do orador, sonoras e compreensíveis, pintavam de maneira clara um ser poderoso, afável e justo, que prestava uma atenção paternal ao infortúnio do povo.
A fé vinha, enganava as pessoas, excitava-as, abafando o murmúrio surdo das dúvidas... As pessoas apressavam-se a ceder a esse estado de espírito, dado que o esperavam há longo tempo, e acumulavam-se numa bola enorme feita de corpos com uma única alma, e essa densidade, a proximidade dos ombros e dos flancos aqueciam o coração com uma doce certeza, a esperança no sucesso.
- Não temos necessidade de bandeiras vermelhas! - gritava o careca. Agitando o boné, caminhava à frente da multidão e o crânio brilhante dançava diante dos olhos e atraía a atenção.
- Vamos ter com o nosso pai!
- Ele não deixará que nos ofendam...
- O vermelho é a cor do nosso sangue, camaradas!
A voz sonora teimava, mantinha-se obstinadamente por cima da multidão.
- A única força que pode libertar o povo é a própria força do povo!
- Não devem...
- Querem semear a discórdia, patifes!
- O pope Gapone vai com uma cruz e aquele vai com uma bandeira!
- Tão novo e já lhe apetecia comandar!
Os que se sentiam menos seguros caminhavam no meio da multidão e dali ouvia-se gritar com uma irritação inquieta:
- Corram com ele, esse da bandeira!
Seguiam agora depressa, sem hesitações e, a cada passo, a unidade de espírito aumentava; a embriaguez da ilusão tomava-se mais intensa. O "ele", acabado de criar, despertava insistentemente nas memórias as velhas sombras dos bons heróis, ecos de histórias ouvidas na infância, e, saciando-se com a força viva desse desejo de acreditar, crescia nas imaginações com impetuosidade.
Alguém gritou:
- "Ele" ama-nos!
E, evidentemente, as pessoas acreditavam naquele amor de um ser que elas próprias acabavam de criar.
Quando a multidão desembocou na margem do rio e viu diante de si a linha comprida e quebrada dos soldados que lhe impedia a passagem para a ponte, não se deixou deter por esse obstáculo cinzento e ténue. As silhuetas dos soldados que se desenhavam como linhas finas no fundo azul-claro do largo rio nada tinham de ameaçador; saltitavam para aquecer os pés gelados, gesticulavam, empurravam-se; em frente, do outro lado do rio, as pessoas divisavam um edifício escuro; quem os esperava ali era "ele", o czar, o dono daquela casa. Grande, poderoso, bom e afável, não podia evidentemente ordenar que aqueles soldados impedissem o povo, que o amava e desejava contar-lhe as suas misérias, de ir à sua presença.
No entanto, em muitas expressões apareceu a sombra de uma perplexidade e aqueles que caminhavam na frente abrandaram o passo ligeiramente. Uns olharam para trás, outros afastaram-se, e todos se esforçaram por demonstrar uns aos outros que, quanto à presença dos soldados eles já sabiam, aquilo não os surpreendia. Alguns olharam calmamente para o anjo de ouro que brilhava bem alto, no céu, por cima da triste fortaleza, e outros sorriram. Uma voz compadecida comentou:
- Coitados dos soldados, têm frio!...
- Devem ter, claro!
- Têm de estar ali, parados!
- O dever deles é manter a ordem!
- Devagar, rapazes! Calma!
- Vivam os soldados! - gritou alguém.
Um oficial, com um capuz amarelo nos ombros, desembainhou o sabre e, brandindo a lâmina curva de aço, gritou qualquer coisa à multidão que chegava. Os soldados mantinham-se imóveis, alinhados ombro a ombro.
- Que estão eles ali a fazer? - perguntou uma mulher gorda.
Ninguém lhe respondeu e, de repente, pareceu a todos que se tornava difícil caminhar. O grito do oficial atingiu toda a gente:
- Para trás!
Alguns voltaram-se: seguia-os uma massa compacta de corpos na qual desaguava, numa corrente interminável, um escuro rio humano; a multidão afastava-se, cedendo àquela pressão, e vinha entupir a praça, diante da ponte. Alguns dos componentes destacaram-se e avançaram ao encontro do oficial, agitando lenços brancos. Ao avançar, gritavam:
- Vamos ver o nosso soberano...
- Vimos em paz...
- Recuem ou mando abrir fogo!
Quando a ordem do oficial atingiu a multidão, esta respondeu com um eco de surpresa trovejante, cheio de espanto. Que os não deixariam chegar até "ele" já alguns tinham garantido, mas que ainda por cima atirassem sobre o povo que ia até "ele" pacificamente, confiado na força e bondade de que ele não deixaria de dar provas, era algo que destruía a integridade da imagem que tinham criado. "Ele" era uma força maior do que qualquer outra, fosse qual fosse; não receava ninguém, não tinha qualquer razão para rechaçar, à ponta de baioneta e a tiro, o seu povo.
Um homem alto, magro, olhos negros num rosto de fome, exclamou subitamente:
- Abrir fogo? Não te atreverás!
Voltou-se para a multidão e prosseguiu com voz forte e cheia de ódio:
- Afinal, sempre era o que eu dizia: não nos deixam passar...
- Quem? Os soldados?
- Os soldados não, aqueles que estão ali...
Com a mão, indicou um sítio, ao longe...
- Os que estão nos poleiros... Eu bem tinha razão no que dizia.
- Ainda não se pode saber...
- Quando souberem o motivo que nos traz, deixar-nos-ão passar!...
O rumor crescia. Ouviam-se gritos de cólera, exclamações irónicas soavam aqui e além. O bom senso chocava-se contra aquela barreira absurda e silenciava. Os movimentos tornavam-se mais nervosos e mais desordenados; um frio agudo soprava do lado do rio; as pontas imóveis das baionetas faiscavam.
Soltando exclamações e obedecendo à pressão que as empurrava para a frente, as pessoas progrediam. As que tinham avançado com os lenços recuaram obliquamente e desapareceram na multidão. Mas na frente, homens, mulheres e crianças, todos agitavam igualmente lenços brancos.
- Disparar porquê? Com que fim? - exclamava, num tom um pouco enfático, um homem duma certa idade, com a barba grisalha. - Se não nos querem deixar passar pela ponte, podemos simplesmente cortar por cima do gelo...
Repentinamente, um ruído seco e desigual propagou-se no ar, tremeu e veio bater contra a multidão como dezenas de chicotadas. As vozes pareceram ter gelado instantaneamente. E a massa continuava a avançar.
- Balas de pólvora seca! - disse uma voz incolor, que interrogava mais do que afirmava.
Mas aqui e ali ouviam-se gemidos, havia corpos que jaziam aos pés da multidão. Uma mulher, soltando gritos de dor, crispou a mão direita no peito e, com passos rápidos, avançou para a frente, a direito contra as baionetas que a enfrentavam. Outros se precipitaram atrás dela para a segurar, para a ultrapassar.
Ecoou novamente o crepitar duma salva, ainda mais sonora e mais irregular. Os que estavam junto de um tapume ouviram estremecer as tábuas como se tivessem sido mordidas por dentes raivosos. Uma bala ricocheteou ao longo de uma tábua, arrancando aparas miúdas que lançou à cara das pessoas. Os vultos caíam, aos dois e três, dobravam os joelhos e tombavam segurando o ventre, corriam não se sabia para onde, corriam manquejando, rastejavam na neve onde floriam largas manchas de sangue em profusão; alargavam-se, fumegavam, atraíam o olhar... A multidão refluiu, deteve-se um instante, estupefacta, e de súbito rebentou o uivo selvagem e dilacerante de centenas de vozes. Subiu num único jorro e pôs-se a vibrar no ar como uma nuvem estranha de gritos arrepiantes de dor aguda, de horror, de protesto, de perplexidade melancólica, de apelos de socorro.
De cabeça baixa, em grupos reduzidos, as pessoas lançavam-se para a frente para retirar os mortos e os feridos. Estes também gritavam, ameaçando com os punhos; todos os rostos se tinham metamorfoseado e em todos os olhos brilhava uma espécie de loucura. Não se produziu o pânico, esse terror negro colectivo que se apodera bruscamente das pessoas e varre os corpos em amontoados como o vento faz às folhas secas, arrastando-as a todas e lançando-as para longe na cegueira dum turbilhão endemoninhado, na ânsia de encontrar onde se esconder. Havia, sim, horror, que queimava como o ferro gelado, congelava o coração, comprimia o corpo, obrigava a olhar com olhos bem abertos o sangue que a neve absorvia, os rostos, as mãos, as roupas ensanguentadas, os cadáveres terrivelmente calmos no meio da agitação alarmada dos vivos. Havia também uma indignação áspera, um ódio triste e impotente, muitos olhos estranhamente imóveis, sobrolhos carregados e sombrios, punhos crispados, gestos convulsivos e palavras corrosivas. Mas parecia que por cima disso tudo uma fria estupefacção tinha penetrado nos corações e matado a alma. Alguns minutos antes, minutos infelizes, aqueles homens caminhavam para um objectivo que se desenhava claramente, para uma imagem de conto fantástico que se erguia majestosamente perante eles, que eles admiravam, amavam, e com que nutriam de esperanças a alma. Duas descargas, o sangue, os cadáveres, os gemidos, e todos se viram perante um vácuo cinzento, impotentes, com o coração dilacerado.
Revoluteavam sem sair do lugar, como que apanhados numa rede de que se não podiam libertar; uns, sem dizer nada, com ar preocupado, transportavam os feridos, recolhiam os mortos, outros viam o que eles faziam como se estivessem a sonhar, atordoados, perdidos numa estranha apatia. Muitos gritavam censuras aos soldados, insultos, lamentos, gesticulavam, tiravam o boné e saudavam não se sabia quem, ameaçando com a sua cólera terrível.
Os soldados mantinham-se imóveis, com as armas apontadas para o chão; os rostos deles mantinham-se igualmente inertes, a pele tensa nas faces salientes. Dir-se-ia que todos tinham os olhos brancos e os lábios gelados.
Alguém gritou histericamente no meio da multidão:
- Isto é um engano! É um erro, amigos!... Julgaram que éramos outros, não há dúvida! Vamos lá, é preciso explicar...
- Gapone é um traidor! - gritou um jovem, trepando a um candeeiro.
- Vamos, camaradas, bem vêem como "ele" vos recebe...
- Parem! É um erro! Não pode ser de outra maneira, tentem compreender!
- Deixem passar este ferido!
Dois operários e uma mulher transportavam o homem alto e magro; estava coberto de neve e o sangue corria-lhe da manga do sobretudo. O rosto tinha empalidecido, estava ainda mais magro, e os lábios que mexiam lentamente murmuravam:
- Eu bem dizia: não querem deixar passar!... Escondem-no... o que é o povo, para eles?
- Vem aí a cavalaria!
- Fujam!
A parede dos soldados estremeceu e abriu-se como os dois batentes dum portal de madeira para dar passagem aos cavalos que avançaram caracoleando e relinchando; soou o grito dum oficial e os sabres, fendendo o ar faiscante por cima da cabeça dos cavaleiros, brilharam como fitas de prata e apontaram todos na mesma direcção. A multidão ficou ali, vacilando na sua emoção, esperando sem acreditar.
O ruído diminuiu.
- Carregar! - ressoou a ordem, como um grito furioso.
Como se se tivesse levantado um turbilhão e os chicoteasse em pleno rosto, ou a terra tivesse começado a deslizar-lhes debaixo dos pés, todos se lançaram numa corrida, empurrando-se, derrubando-se uns aos outros, abandonando os feridos, saltando por cima dos cadáveres. O pesado martelar dos cascos perseguia-os, os soldados uivavam, os cavalos galopavam no meio dos feridos, dos mortos, daqueles que tinham caído, os sabres cintilavam e os gritos de pavor e de sofrimento faiscavam também: podia ouvir-se de vez em quando o assobio do aço e o choque contra os ossos. Os gritos dos que eram atingidos amalgamavam-se num único gemido prolongado e sonoro:
- Ai-i-i!
Os soldados brandiam o sabre e abatiam-no sobre as cabeças, deslocando-se para um lado com o ímpeto da pancada. No rosto vermelho não se lhes distinguiam os olhos. Os cavalos relinchavam, mostrando os dentes em caretas monstruosas, abanavam a cabeça...
O povo espalhou-se pelas ruas; logo que o ruído dos cascos se sumiu ao longe, as pessoas, sem fôlego, pararam e olharam umas para as outras, de olhos esbugalhados; algumas exibiam tímidos sorrisos culpados, alguém se pôs a rir, gritando:
- Caramba, há muito tempo que não corria tanto!
- Pode continuar! - responderam-lhe.
Mas de repente começaram a chover de todos os lados gritos de espanto, de horror ou de ódio:
- Que quer isto dizer, amigos?
- Isto foi um massacre, irmãos ortodoxos!
- Mas porque?
- Temos um bonito governo!
- Tratam-nos a fio de espada! Espezinham-nos com os cavalos, ha!
Na sua perplexidade, ficavam ali, sem saber como agir e comunicando a sua indignação. Não compreendiam o que se devia fazer, ninguém se ia embora e cada um deles se encostava ao vizinho, tentando encontrar uma saída qualquer para a confusão em que mergulhavam os sentimentos, olhavam-se com uma curiosidade angustiada e, no entanto, mais admirados do que aterrorizados, continuavam a esperar olhando à sua volta. Estavam todos demasiado abatidos, demasiado quebrados pela estupefacção; esse sentimento eclipsava todos os outros e, mantendo-os num estado de espírito anormal, impedia-os de conceber o significado pleno desses minutos inesperados e terríveis na sua inutilidade insensata, saturados do sangue dos inocentes.
Uma voz jovem, enérgica, apelou:
- Eh! Vamos recolher os feridos!
Estremeceram e dirigiram-se com rapidez para a saída da rua que desembocava no rio. Ao seu encontro vinham homens estropiados, cobertos de neve ensanguentada, penetravam na rua a mancar, arrastando-se conforme podiam. Pegavam neles, amparavam-nos, mandavam parar os fiacres, faziam sair os passageiros e conduziam-nos a qualquer parte. Todos tinham agora uma expressão preocupada e mantinham um silêncio pesado. Examinavam os feridos com um olhar profundo, mediam sem dizer nada, comparavam, mergulhados na pesquisa duma resposta a dar à terrível pergunta que se levantava, confusa e informe sombra negra. Ela tinha aniquilado a imagem recentemente inventada desse herói, desse czar, fonte de bem e de clemência. Foram pouco numerosos os que se resolveram imediatamente a reconhecer bem alto que a imagem já estava destruída. Era difícil fazê-lo, porque era privar-se assim da sua única esperança.
O careca do sobretudo remendado passou; o crânio baço estava agora salpicado de sangue, caminhava inclinando a cabeça e o ombro, as pernas dobravam-se-lhe, recusando-se a sustentá-lo. Amparava-o um rapagão de ombros largos e de cabelos ondulados, sem boné, e uma mulher com uma peliça rasgada, de rosto inerte e estupidificado.
- Como é possível isto, Miguel? - murmurava o ferido.
- Disparar sobre o povo não é permitido!... Não pode ser, Miguel!
- Mais foi! - gritou o rapaz.
- Dispararam e acutilaram! - notou a mulher, acabrunhada.
- Isso significa que receberam ordem para fazer isso, Miguel...
- Não há dúvida nenhuma! - disse o rapaz com voz raivosa. - Pensava que iam discutir consigo? Que lhe ofereciam um copo?
- Espera aí, Miguel...
O ferido parou, encostou-se a uma parede e pôs-se a gritar:
- Ortodoxos! Porque nos massacram? Com que direito? Por ordem de quem?
As pessoas passavam junto dele, baixando a cabeça.
Mais longe, na esquina de um muro, algumas dezenas tinham-se reunido em torno dum homem que, com voz precipitada e arquejante, dizia com uma ansiedade cheia de ódio:
- Ontem o Gapone falou com o ministro. Ele sabia tudo o que se ia passar, portanto ele traiu-nos, mandou-nos para a morte.
- Que lhe adiantava isso?
- Sei lá!
Por toda a parte os espíritos aqueciam, cada pessoa via levantar-se diante de si perguntas ainda confusas mas já sentia a importância delas, a sua extensão e a exigência severa e premente de lhes dar resposta. O fogo da agitação consumia rapidamente qualquer fé num auxílio exterior, qualquer esperança num miraculoso libertador da miséria.
Pelo meio da rua caminhava uma mulher forte, mal vestida com uma cara simpática de mãe e grandes olhos tristes. Chorava e, sustentando com a mão direita a esquerda ensanguentada, dizia:
- Como poderei trabalhar? Com que hei-de sustentar os meus filhos? Onde é que o povo encontrará quem o defenda, se o próprio czar é contra ele?
As suas perguntas, sonoras e claras, despertaram as pessoas, alarmaram-nas, abanaram-nas. Vinham ter com ela, acorriam de todos os lados e paravam para a ouvir com uma atenção melancólica.
- Então não há lei que proteja o povo?
Alguns suspiraram, outros praguejaram com voz colérica e contida.
De algures chegou um grito amargo e cheio de ódio:
- Eu recebi ajuda! Quebraram a perna do meu filho!
- Mataram o Pedrinho!
Os gritos eram numerosos, flagelavam os ouvidos e provocavam cada vez mais amplos ecos vingadores, as suas bruscas ressonâncias despertavam a animosidade, a consciência de que era indispensável defenderem-se contra os assassinos. Nos rostos sem cor, surgiu uma decisão.
- Camaradas! Vamos à cidade, apesar de tudo... Talvez se consiga qualquer coisa! Vamos, com todas as precauções.
- Vão-nos massacrar...
- Vamos falar aos soldados. Talvez eles compreendam que não há nenhuma lei que permita massacrar o povo.
- Talvez haja uma! Como posso saber?
A multidão, lentamente mas sem desfalecimento, alterava-se, transfigurava-se em povo. Os jovens destacavam-se em pequenos grupos que iam na mesma direcção, regressavam ao rio. Os feridos e os mortos continuavam a ser transportados, havia por toda a parte um odor de sangue quente, gemidos, exclamações.
- Ao Tiago Zimine a bala apanhou-o no meio da testa.
- Agradeçam ao nosso bom czar!
- Não há duvida... Recebeu-nos bem.
Ressoavam pragas e maldições. Por uma única daquelas palavras, um quarto de hora antes, a multidão teria feito em pedaços o profanador.
Uma rapariguinha corria, desamparada, e perguntava às pessoas:
- Não viram a minha mãe?
Olhavam-na sem dizer nada e deixavam-na passar. Depois ouviu-se a mulher da mão fracturada:
- Aqui! Estou aqui!
A rua esvaziava-se. Os jovens partiam com uma pressa crescente. Os mais idosos, com expressões tristes, dirigiam-se também para qualquer parte, vigiando os mais novos pelo canto do olho. Falava-se pouco... Apenas, de vez em quando, alguém que não podia conter a amargura, exclamava com voz abafada:
- Então agora repudia-se o povo!...
- Malditos assassinos!
Lamentavam-se os que tinham sido mortos e, adivinhando que tinha igualmente sido morto, daquela maneira, um pesado preconceito de escravos, procuravam não falar disso, não se pronunciava mais esse nome que rasgava o ouvido, a fim de não alarmar mais no coração a tristeza e a cólera.
E talvez se calassem, também, com medo de criar um novo no lugar do que morrera.
...Em torno do palácio do czar mantinha-se uma cadeia apertada e indissolúvel de soldados pardacentos; a cavalaria estava disposta sob as janelas do edifício e, na praça, os canhões apontavam os seus canos curtos com ar de sanguessugas. Um cheiro de feno, de suor e de excrementos de cavalo cercava a residência, e o tilintar do ferro e das esporas, as ordens que se gritavam, o bufar dos animais, tudo isso vibrava sob as janelas cegas do palácio.
Fazendo frente aos soldados, milhares de pessoas desarmadas e cheias de animosidade mantinham-se no frio glacial e, por cima da multidão, subia, como se fosse poeira, o vapor acinzentado das respirações. Uma companhia de soldados, apoiando um dos flancos na parede dum edifício, numa esquina da Perspectiva Nevski (3), e o outro na grade do jardim, barrava o caminho para a praça do palácio. Muitos civis com roupas diversas, na maioria operários, muitas mulheres e adolescentes, mantinham-se ali, quase a tocar os soldados.
- Dispersem-se, senhores! - dizia em voz baixa um sargento. Andava ao longo da linha, separando com as mãos soldados e civis, esforçando-se por não ver os rostos.
- Porque não nos deixam passar? - perguntavam-lhe.
- Para ir onde?
- Falar com o czar.
O sargento parou por um momento e, com uma expressão próxima do abatimento, exclamou:
- Mas se já vos disse que ele não está lá!
- O czar não está?
- Não! Já disse que não está! Por isso, o melhor é irem embora!
- Foi-se embora de vez? - insistiu uma voz irónica.
O sargento parou novamente e levantou os braços:
- Tenham cuidado com o que dizem.
E acrescentou noutro tom:
- Ele não está na cidade.
- Morreu!
- Vocês mataram-no, patifes!
- Pensavam assassinar o povo?
- O povo, não o terão. Ele chega para tudo...
- Vocês mataram o czar... Estão a ouvir?
- Recuem, senhores! Nada de réplicas!
- Quem és tu? Um soldado! O que é um soldado?
Mais longe, um velhinho com uma barbicha pontiaguda falava aos soldados, cheio de animação:
- Vocês são homens, nós também. Agora vocês usam o capote, mas amanhã voltarão a usar o caftã. Quererão trabalho, a vontade de comer não falta. Mas sem trabalho não há comida. Vocês chegarão ao mesmo ponto em que nós estamos, meus filhos. E então, será preciso disparar contra vocês? Será preciso matar-vos, porque vocês têm fome?
Os soldados tinham frio. Apoiavam-se ora num pé ora noutro, batiam com as solas no pavimento, esfregavam as orelhas, mudavam a espingarda de uma mão para a outra. Ao ouvirem aquelas frases, suspiravam, erguiam ou baixavam os olhos, davam estalidos com os lábios gelados, assoavam-se. Os rostos violáceos de frio apresentavam uma expressão uniforme de desencorajamento embotado; esses soldadinhos de chumbo, pouco mais altos que a espingarda de baioneta calada que seguravam nas mãos, eram a undécima companhia do regimento n.º 144, de Pskov. Alguns deles fechavam um olho como que para fazer pontaria, apertavam os dentes com esforço, decerto irritados contra aquela multidão que os obrigava a ficar ali, a gelar. A triste linha cinzenta respirava o cansaço e o aborrecimento.
Algumas pessoas, empurradas pelos de trás, chocavam de vez em quando contra os soldados.
- Calma! - repetia, a cada impulso, um homem baixinho, de capote cinzento, com voz contida. A multidão gritava com um ardor crescente. Os soldados ouviam, piscando os olhos, os rostos torciam-se em caretas indecisas e aparecia neles algo de lamentável e de tímido.
- Não me toques na espingarda! - disse um deles a um jovem com boné de pele, que apontou um dedo no peito do soldado, dizendo:
- És um soldado, não um carrasco. Chamaram-te para defender a Rússia contra os seus inimigos, mas querem agora obrigar-te a fuzilar o povo... Estás a perceber? O povo é que é precisamente a Rússia!
- Nós não disparamos! - respondeu o soldado.
- Olha à tua frente! É a Rússia que está aí, o povo russo! Ele quer ver o czar...
Alguém o interrompeu com um grito:
- Não, não quer!
- Há algum mal em o povo querer discutir um pouco os seus problemas com o czar? Dize lá, anda!
- Não sei! - respondeu o soldado, cuspindo.
O soldado do lado acrescentou:
- Não podemos conversar...
Soltou um suspiro acabrunhado e baixou os olhos. Um outro soldado perguntou subitamente, com voz suave, àquele que estava à frente dele:
- Somos da mesma terra. Você não é de Riazan?
- Sou de Pskov. Porquê?
- Porque sim. Eu sou de Riazan.
Com um sorriso aberto, sacudiu os ombros num gesto friorento.
As pessoas ondulavam diante do muro cinzento e liso, chocavam-se contra ele como as vagas dum rio contra os rochedos da margem. Refluíam, depois voltavam. Muitos provavelmente, não compreendiam porque estavam ali, o que queriam e o que esperavam. Não se tratava dum fim claramente reconhecido, de determinação resoluta, mas era um amargo sentimento de ofensa e de indignação e, em muitos, um desejo de vingança. Era o que os unia a todos, os retinha nas ruas, mas não tinham ninguém sobre quem descarregar os sentimentos, ninguém sobre quem se vingar... Os soldados não provocavam o ódio, não os irritavam; eram simplesmente estúpidos e infelizes, transidos de frio, muitos tremiam como varas verdes, estremeciam, batiam os dentes.
- Plantados aqui desde as seis da manhã. Que calamidade!
- Deitas-te e rebentas...
- Vocês podiam ir embora, ha! Nós voltaríamos para a caserna, para o quente...
- Que diabo é que vos preocupa? Porque esperam? - dizia o sargento.
As palavras dele, o seu rosto sério, o tom pausado e seguro arrefeciam. Tudo o que ele dizia parecia adquirir um sentido especial, mais profundo do que as simples palavras.
- Esperar não serve de nada. Serve só para fazer sofrer a tropa por vossa causa.
- Vocês vão voltar a disparar contra nós? - perguntou um rapaz que cobria a cabeça com um capuz.
Após uma pausa, o sargento respondeu:
- Se nos derem essa ordem, teremos de a cumprir.
Aquilo provocou uma explosão de frases de reprovação, de palavrões, de motejos.
- Porquê, porquê? - indagava, mais alto do que os outros, um homem forte, ruivo.
- Vocês não obedecem às ordens do comando! - explicou o sargento, coçando uma orelha.
Os soldados ouviam as conversas das pessoas e piscavam os olhos de cansaço. Um deles disse vagarosamente:
- Bebia agora com vontade uma coisa quente!
- Talvez queiras o meu sangue! - retorquiu alguém, com voz cheia de ódio e de repulsa.
- Não sou nenhum animal feroz! - replicou o soldado com expressão ofendida e triste.
Muitos olhares fixavam o largo e achatado semblante da longa linha de soldados com uma curiosidade fria e silenciosa, com desprezo e repugnância. Mas a maioria tentava aquecê-los ao fogo da sua própria excitação, tentava libertar no coração deles algo que a caserna tinha comprimido a fundo, assim como na cabeça entupida com o bricabraque de educação militar. A maior parte das pessoas desejava agir, realizar de uma maneira ou de outra aquilo que sentia e pensava, chocando-se obstinadamente contra aquelas pedras cinzentas e frias que tinham apenas um desejo: o de se aquecerem.
As frases soavam cada vez mais ardentes e as palavras mais exaltadas.
- Soldados! - dizia um camponês atarracado, com uma grande barba e olhos azuis. - Vocês são filhos do povo russo. Puseram o povo na miséria, esqueceram-no, deixam-no sem protecção, sem pão e sem trabalho. E hoje o povo veio pedir auxílio ao czar, e o czar ordena que vocês disparem sobre o povo, ordena que o massacrem. Já dispararam na ponte da Trindade e mataram pelo menos uma centena de pessoas. Soldados, o povo são os vossos pais, os vossos irmãos, o povo não se mete em trabalhos apenas por ele mas também por vocês. Põem-vos contra o povo, obrigam-vos a matar pais e irmãos. Pensem um momento! Não compreendem que é contra vocês próprios que disparam?
A voz afável e calma do velho, o rosto bom com a sua barba branca, toda a fisionomia e as suas palavras simples e justas emocionavam visivelmente os soldados. Baixavam os olhos e ouviam-no com atenção; um suspirava abanando a cabeça, outros franziam os sobrolhos e olhavam à sua volta, um outro advertiu-o com voz abafada:
- Afasta-te, o oficial acabará por te ouvir.
Este, grande, aloirado, com bigodes pequenos, caminhava lentamente ao longo da fileira e, calçando a luva na mão direita, dizia entre dentes:
- Circulem!... Vão-se embora!... Que é isso? Atrevem-se a discutir? Eu lhes darei a discussão!
Tinha um rosto espesso, rubicundo, e olhos redondos claros mais sem brilho. Caminhava sem pressa, batendo com os pés no chão, mas com a sua chegada o tempo precipitou-se como se cada segundo se apressasse a desaparecer com receio de se encontrar ligado a um ultraje odioso. Atrás dele, como se accionasse uma régua invisível que alinhava a fileira da tropa, os soldados encolhiam as barrigas, enchiam o peito, lançavam uma olhadela à biqueira das botas. Alguns apontavam com os olhos o oficial, à multidão, e faziam esgares coléricos. Este parou num dos flancos e comandou:
- Sentido!
Os soldados moveram-se e inteiriçaram-se.
- Ordeno-vos que disperseis! - gritou ele, desembainhando o sabre vagarosamente.
Dispersar era materialmente impossível: a multidão tinha submerso toda a praça com a sua massa compacta e da rua, lá atrás, continuava a desembocar gente.
O oficial era olhado com ódio, ouvia as zombarias, os palavrões, mas mantinha-se firme, imóvel sob a avalanche. O olhar morto examinava a sua companhia, as sobrancelhas ruivas mal estremeciam. A multidão começou a trovejar com mais força, aquela calma irritava-a visivelmente.
- É este que quer dar ordens!
- Mesmo sem ter ordem, está pronto a fazer sangue!
- Parece um arenque...
- Eh, patrãozinho, estás pronto para o massacre?
Uma impetuosidade provocante crescia, uma intrepidez descuidada, os gritos eram mais altos, os impropérios mais violentos.
O sargento olhou para o oficial, estremeceu, ficou pálido e, por sua vez, desembainhou o sabre rapidamente.
Subitamente soou um toque sinistro. A multidão olhou para o clarim: o soldado inchava as bochechas e arregalava tão curiosamente os olhos que todo o rosto parecia prestes a estalar; o clarim tremia-lhe na mão e o toque era demasiado longo. As pessoas abafaram o grito fanhoso do cobre com um assobio sonoro, ululando, soltando sons esganiçados, maldições, censuras, gemidos de impotência, gritos de desespero e de audácia provocados pela sensação de que era possível morrer de repente e era impossível escapar. Não havia um sítio para onde fugir da morte. Alguns vultos atiraram-se ao chão, outros escondiam o rosto nas mãos, enquanto o homem da barba branca, que abrira o sobretudo no peito, se mantinha à frente de todos, com os olhos azuis fixos nos soldados, pronunciando palavras que se afogavam no caos dos gritos.
Os soldados brandiram as espingardas, apontaram e colocaram-se todos na posição do caçador à espreita, com a baioneta dirigida contra a multidão.
Via-se a fileira de baionetas suspensa, agitada, irregular; umas estavam demasiado para cima, as outras inclinavam-se muito para o chão, poucas eram as que efectivamente apontavam a direito para os peitos, e todas pareciam moles, tremiam e tinham o ar de se derreter, de vergar.
Uma voz sonora gritou com uma repulsa misturada de horror:
- Que estão a fazer, assassinos?
Um frémito violento, desigual, percorreu as baionetas, uma rajada assustada partiu, as pessoas oscilaram, projectadas para trás pelo ruído, pelas balas, pela queda dos mortos e dos feridos. Alguns, sem dizer palavra, lançaram-se numa corrida para escalar a grade do jardim. Uma nova rajada, depois outra. Um garotinho, surpreendido na grade por uma bala, dobrou-se subitamente e ficou suspenso, de cabeça para baixo. Uma mulher, alta e esbelta, com uma cabeleira vaporosa, soltou um gemido frágil e caiu molemente junto dele.
- Ah, malditos!... Malditos! - gritou alguém.
O local tornou-se mais amplo e mais calmo. As filas da retaguarda da multidão fugiam paras as ruas, metiam-se nos pátios, recuavam obedecendo a golpes invisíveis. Entre ela e os soldados formou-se um espaço de alguns metros todo coberto de corpos. Uns levantavam-se e fugiam a toda a pressa para o lado dos seus, outros erguiam-se com penosos esforços deixando manchas de sangue e afastavam-se, titubeantes, seguidos pelo rasto sangrento. Muitos jaziam imóveis, deitados de barriga e de costas, ou de lado, mas todos na estranha tensão do corpo que foi apanhado pela morte quando parecia tentar furtar-se-lhe às garras...
Espalhava-se no ambiente um odor de sangue. Lembrava o hálito quente e um pouco salgado do mar ao crepúsculo dum dia tórrido, um cheiro mórbido e inebriante que despertava uma sede terrível de encher com ele as narinas, longamente. Um cheiro que corrompe e perverte a imaginação como o sabem os carniceiros, os soldados e outros assassinos profissionais.
A multidão, ao recuar, soltava as suas maldições, vociferava, os gritos de dor fundiam-se num turbilhão desordenado com os assobios, os choques e os lamentos; os soldados mantinham-se imperturbáveis, tão imóveis como os mortos. Tinham o rosto cor de cinza, lábios cerrados, como se também eles quisessem gritar e assobiar, mas não conseguissem resolver-se a tal e se retivessem. Olhavam à sua frente com olhos escancarados que já não piscavam. Não se detectava no seu olhar nada de humano, pareciam não ver, assemelhavam-se a pontos vazios e embaciados na superfície tensa dos rostos. Recusavam-se a ver, talvez com o secreto receio de que a vista do sangue quente que tinham feito derramar lhes desse vontade de repetir a proeza. As espingardas tremiam-lhes nas mãos, as baionetas ondulavam, furando o ar. Mas esse arrepio dos corpos não podia sacudir a impassibilidade estúpida daqueles homens, nos quais se tinha abafado o coração ao tiranizar a vontade e cujos cérebros tinham sido aglutinados numa repugnante mentira em decomposição. O homem barbudo, de olhos azuis, levantou-se do chão e dirigiu-se novamente a eles, a voz entrecortada e o corpo trémulo:
- A mim, vocês não me mataram, porque eu disse-vos a santa verdade...
A multidão regressava, lenta e sombria, para recolher os mortos e os feridos. Alguns homens vieram juntar-se aquele que falava com os soldados e, interrompendo-o, puseram-se também a gritar, a exortar, a acusar, sem rancor, com o coração taciturno e cheio de compaixão. Nas vozes deles ainda sobrevivia a fé ingénua na vitória da palavra justa, o desejo de demonstrar a insensatez, a loucura da crueldade, de tornar os soldados conscientes daquele erro penoso; desenvolviam todos os seus esforços para os levar a compreender a infâmia e o horror do seu papel involuntário.
O oficial tirou o revólver do coldre, examinou-o com atenção e encaminhou-se para o grupo. Os homens afastavam-se dele sem pressa, como se faz a um pedra que rola lentamente por uma encosta. O barbudo de olhos azuis não se mexia e acolheu-o com ardentes censuras, mostrando num gesto largo todo o sangue derramado:
- Como pensa justificar isto? Não há justificação!
O oficial deteve-se diante dele, franziu um sobrolho, com ar preocupado, depois alongou o braço. Não se ouviu a detonação, viu-se o fumo cercar a mão do assassino, uma vez, duas vezes, depois uma terceira. Ao último tiro, o homem dobrou as pernas, tombou para trás e, agitando a mão direita, caiu. De todos os lados houve pessoas que se lançaram sobre o assassino: ele recuou, com o sabre ao alto e a ameaçar todos com o revólver... Um adolescente caiu-lhe aos pés e ele furou-lhe o ventre com um golpe de sabre. Rugia, saltava, oscilava para todos os lados como um cavalo teimoso. Alguém lhe lançou o boné à cara, bombardeavam-no com bolas de neve ensanguentada. O sargento acorreu em seu socorro com alguns soldados de baionetas apontadas e os manifestantes dispersaram. O vencedor acompanhou-os com ameaças, brandindo o sabre, depois baixou subitamente e enfiou-o uma vez mais no corpo do adolescente que lhe rastejava aos pés perdendo sangue.
Soou novamente o toque roufenho do clarim, e as pessoas evacuaram precipitadamente a praça ao ouvi-lo alongar-se no ar em finas volutas, como se pretendesse dar o último arranjo aos olhos vazios dos soldados, à bravura do oficial, à ponta vermelha do seu sabre e aos seus bigodes assanhados.
O vermelho vivo do sangue irritava o olhar e atraía-o, provocando o desejo perverso e embriagador de ver ainda mais, de o ver por toda a parte. Os soldados tinham o ar de estarem na expectativa, mexiam o pescoço e procuravam com os olhos, ao que parecia, novos alvos vivos para as suas balas.
O oficial, num dos flancos, brandia o sabre e gritava com voz sacudida pela cólera desencadeada.
Em resposta vieram gritos de várias direcções:
- Carrasco!
- Filho da mãe!
Ele achou-se no dever de corrigir o alinhamento dos bigodes. Soou uma nova rajada, depois outra...
As ruas regurgitavam de gente, como sacos cheios de grão. Aqui havia menos operários, os pequenos comerciantes e empregados dominavam. Já alguns deles tinham visto o sangue e os cadáveres, outros tinham sido batidos pela policia. A angústia tinha-os tirado das suas casas, encaminhado para a rua, e eles disseminavam o seu alarme, exagerando o aspecto horroroso daquele dia. Homens, mulheres e adolescentes, todos olhavam em torno, com ansiedade, e esperavam apurando o ouvido. Relatavam uns aos outros os massacres, lamentavam-se, praguejavam, interrogavam os operários levemente feridos, baixavam por vezes as vozes quase até ao murmúrio para comunicarem coisas em segredo. Ninguém compreendia o que era necessário fazer, ninguém regressava a casa. Sentiam, adivinhavam que atrás daqueles assassinos se escondia algo de importante, de mais profundo e mais trágico para eles do que aquelas centenas de mortos e feridos que não pertenciam à sua classe.
Mergulhados até aquele dia numa espécie de inconsciência, tinham vivido de noções confusas, amadurecidas sem que se soubesse quando nem como, a respeito do poder, da lei, das autoridades, dos seus próprios direitos. O carácter impreciso dessas noções não os impedia de rodear os cérebros de uma rede espessa e compacta, de os cobrir com uma grossa casca escorregadia; tinham-se habituado a pensar que existia na vida uma força que devia e podia defendê-los: a lei. Adquiriram desse modo a certeza de se encontrarem em segurança, ao abrigo de pensamentos importunos. As coisas não corriam mal e, embora a vida atacasse essas nevoentas noções com dezenas de fissuras, choques e arranhadelas, e algumas vezes reveses sérios, nem por isso eles deixavam de estar solidamente ancorados; conservavam a sua morta dignidade e as arranhadelas e fissuras cicatrizavam muito depressa.
Mas hoje, subitamente despojado, o cérebro deles teve um arrepio e o peito foi dominado por uma angústia glacial. Todo aquele depósito formado pelo hábito foi sacudido, quebrou e desapareceu. Todos se sentiam, com maior ou menor lucidez, triste e terrivelmente isolados, sem defesa perante uma força cínica e cruel que não reconhecia direito ou lei. Mantinha todas as vidas entre as suas mãos e podia, com uma total inconsciência, semear a morte nessa massa, podia aniquilar os vivos à sus vontade, conforme o seu apetite. Ninguém a podia reter; recusava-se a falar fosse a quem fosse. Era toda-poderosa e mostrava cabalmente a desmesura do seu império, juncando absurdamente as ruas de cadáveres, inundando-as de sangue. O seu delirante capricho sanguinário era claramente visível. Inspirava uma angústia unânime, um terror corrosivo que esvaziava a alma. Sacudida insistentemente a razão, levando-a a criar os planos duma nova defesa do indivíduo, novas construções para a salvaguarda da vida.
De cabeça baixa, balouçando as mãos ensanguentadas, passava um homem robusto, atarracado. Tinha a parte da frente do sobretudo inundada de sangue.
- Está ferido? - perguntou alguém.
- Não!
- Então, esse sangue?
- Não é meu! - respondeu ele sem se deter.
Repentinamente imobilizou-se, olhou à sua volta e pôs-se a falar estranhamente alto:
- Não é o meu sangue, senhores... É o sangue dos que tinham fé...
Sem terminar, prosseguiu o seu caminho, baixando novamente a cabeça.
Agitando os seus curtos chicotes, um destacamento de cavalaria irrompeu no meio da multidão. As pessoas lançaram-se para todos os lados, para escaparem, esmagando-se umas às outras, escalando os muros. Os soldados estavam embriagados, oscilavam nas selas com um sorriso estúpido e, por vezes, como que por engano, chicoteavam cabeças e ombros. Um homem que tinha sido atingido caiu, mas pôs-se em pé imediatamente e gritou:
- Eh, bruto!
O soldado tirou rapidamente a carabina e disparou à queima-roupa, continuando a galopar. O homem tornou a cair e o soldado deu uma gargalhada.
- Que estão a fazer? - gritava apavorado um senhor respeitável, bem posto, voltando para todos os lados uma expressão alterada. - Os senhores viram isto?!
O rumor agitado e trovejante das vozes entregues ao tormento do medo, à angústia do desespero, espalhava-se numa onda contínua: alguma coisa ganhava corpo e vinha, com lentidão imperceptível, unir um pensamento mal formado, ressuscitado de entre os mortos e pouco habituado a trabalhar.
Mas havia ali pessoas da sociedade.
- No entanto, não esqueçamos que ele insultou o soldado.
- Mas o soldado tinha-o chicoteado!
- Ele devia ter-se afastado.
No enquadramento dum portão, duas mulheres e um estudante ligavam o braço dum operário, atravessado por uma bala. O homem torcia a cara, olhava à sua volta franzindo a testa, e dizia aos que o cercavam:
- Não tínhamos qualquer intenção escondida, isso só o podem dizer os filhos da mãe e os bufos. Íamos a descoberto. Os ministros sabiam o que íamos fazer; entregámo-lhes cópias da nossa petição. Se não podíamos ir, esses sacanas tiveram tempo de nos avisar; não nos reunimos à última hora... Todos sabiam, tanto os ministros como a polícia. São uns bandidos...
- Mas, afinal, que iam pedir? - quis saber um velho de cabelos brancos, magro, com um tom sério e compenetrado.
- Íamos pedir que o czar convocasse representantes do povo e tratasse com eles os assuntos, e não com os funcionários. Esses crápulas têm saqueado a Rússia, têm roubado toda a gente.
- Efectivamente... era preciso um controlo! - comentou o velhinho.
A ferida do operário estava ligada e desceram-lhe com precaução a manga da camisa.
- Obrigado a todos! Eu bem dizia aos meus camaradas: vamos lá para nada! Não conseguiremos coisa nenhuma... Agora está feita a prova!
Enfiou cuidadosamente o braço entre os botões do sobretudo e afastou-se sem pressa.
- Ouviu o modo como eles raciocinam? Isto, meu caro...
- Si-im!, mas apesar de tudo, organizar uma tal carnificina...
- Hoje tocou-lhe a ele, amanhã pode ser a mim...
- Si-im!
Mais adiante, discutia-se acaloradamente:
- Ele podia não saber!
- Mas então para que diabo é que "ele" existe?
Os que tentavam, porém, ressuscitar o morto já eram raros e não atraíam ninguém. Limitavam-se a provocar a animosidade com as suas tentativas de levar o fantasma a renascer. Caíam em cima deles como de inimigos e, tomados de pânico, desapareciam.
Uma bateria de artilharia desembocou na rua, comprimindo a multidão. Os soldados, a cavalo ou sentados nos bancos da frente, olhavam pensativamente diante de si, por cima das cabeças; as pessoas esmagavam-se para lhes dar passagem, envoltas num silêncio taciturno. Os arreios tilintavam, as munições ressoavam e os canhões sacudiam os reparos, fixando atentamente o solo como se o cheirassem. O comboio tinha um aspecto de funeral.
Ouvia-se algures o crepitar de uma fuzilaria. Todos ficaram atentos, parados. Alguém disse baixinho:
- Ainda mais!
Repentinamente, um frémito de animação correu ao longo da rua.
- Onde? Onde?
- Na ilha... A ilha Vassilievski... (4)
- Ouviram?
- Não pode ser verdade.
- Palavra de honra! Tomaram de assalto o arsenal...
- Oh!
- Serraram os postes telegráficos e fizeram uma barricada...
- Essa agora!
- São muitos?
- São!
- Ah, se ao menos eles pudessem fazer pagar caro o sangue dos inocentes!
- Vamos lá?
- Ivan Ivanovitch, vamos lá, ha!
- Hum... é que... vocês sabem...
Um vulto apareceu por cima da multidão e um apelo sonoro soou na escuridão:
- Quem se quer bater pela liberdade? Pelo povo, pelo direito do homem à vida e ao trabalho? Os que quiserem morrer combatendo pelo futuro venham auxiliar.
Alguns dirigiram-se a ele e formou-se no meio da rua um núcleo compacto de corpos; os outros afastaram-se.
- Vêem a que ponto o povo está exasperado?
- É absolutamente legal, absolutamente!...
- É uma pura loucura... ai de nós!
As pessoas mergulhavam na sombra da noite, regressando cada um a sua casa, e levavam consigo uma angústia ainda desconhecida, uma sensação inquietante de solidão, misturadas com a semiconsciência do drama da sua vida, privada de direitos e desprovida de significado, vida de escravos. E estavam dispostos a tirar partido, sem demora, de tudo o que se apresentasse de oportuno e de lucrativo.
O medo instalava-se. A obscuridade tinha rompido o laço que unia as pessoas, laço frágil do interesse exterior. E todos aqueles em que não brilhava a chama apressavam-se a regressar ao seu canto ainda mais depressa.
Já estava escuro mas ainda não tinham acendido as luzes.
- Os dragões! - gritou uma voz rouca.
Um pequeno destacamento de cavalaria voltou subitamente a esquina da rua, os cavalos hesitaram um instante, depois lançaram-se a toda a brida sobre as pessoas. Os soldados soltavam uivos estranhos que tinham ressonâncias que não eram humanas, sombrias e cegas, aparentadas incompreensivelmente com um desespero melancólico. Na escuridão, homens e cavalos tornaram-se pequenos e negros. Os sabres faiscavam com um brilho amortecido, os gritos eram mais raros e ouviam-se melhor os golpes.
- Batam com o que tiverem à mão, camaradas! Olho por olho... Casquem-lhes!
- Fujam!
- Tem cuidado, cavaleiro! Não me tomes por um mujique! (5)
- Camaradas! À pedrada!
Atirando ao chão os pequenos vultos negros, os cavalos saltavam, relinchavam, bufavam; o aço tilintava, ouvia-se uma voz de comando:
- Pelotão!
Uma corneta lançava um apelo precipitado e nervoso. As pessoas corriam, atropelavam-se, caíam. A rua esvaziava-se e, no centro, havia montes escuros, enquanto para lá da esquina ressoava o rápido e pesado martelar dos cascos.
- Está ferido, camarada?
- Estou convencido de que me cortaram a orelha.
- Não se podia fazer nada! Com as mãos vazias...
O eco dum novo tiroteio chegou até à rua.
- Aqueles bandidos não se cansam!
Silêncio. Passos apressados. É estranho que haja tão pouco ruído, que nada se mova nesta rua. De todos os lados sobe um rumor de trovão, húmido, como se o mar tivesse invadido a cidade.
Ali perto, um gemido abafado vibra nas trevas. Alguém corre e respira, arquejante.
Uma pergunta angustiosa:
- Estás ferido, Tiago?
- Não te preocupes, não é nada! - responde uma voz rouca.
Na esquina por onde desapareceram os dragões, aparece novamente uma multidão que corre numa vaga espessa e negra a toda a largura da rua. Alguém que caminha na frente, que não se distingue no meio da multidão, no escuro, diz:
- Hoje, ao derramarem o nosso sangue, levaram-nos a um voto: daqui em diante devemos ser cidadãos.
Outra voz interrompeu, com um soluço nervoso:
- Sim, mostraram-se bem nossos pais!
Alguém pronunciou num tom de ameaça:
- Não esqueceremos este dia.
Caminhavam depressa, em massa compacta, falavam muitos ao mesmo tempo, as vozes mesclavam-se no caos de um rumor lúgubre e sombrio. Por vezes, alguém elevava a voz até ao grito, abafando por um momento todas as outras.
- Quantos teriam matado?
- E qual o motivo?
- Não, não é possível que este dia venha a ser esquecido.
Um pouco afastada, ressoou uma exclamação rouca, quebrada, sinistra como uma profecia:
- Sim, escravos, esquecereis! Que significa para vocês o sangue dos outros?
- Cala-te, Tiago!
A escuridão e o silêncio aumentaram. As pessoas caminhavam lançando olhares para o lado da voz e resmungavam.
Da janela duma casa saía cautelosamente para a rua um raio de luz amarelado. No clarão que ela provocava, junto de um candeeiro, distinguiam-se dois vultos negros. Um, sentado no chão, estava encostado ao poste, o outro, inclinado para ele, pretendia certamente levantá-lo. E, uma vez mais, um deles exclamou com surda tristeza:
- Escravos...
Notas
1 - O pope Gapone abandonara o sacerdócio e, como agente do governo, organizara "Uniões Operárias", centro de provocação, conseguindo ganhar a confiança dos dois campos. Persuadiu as suas organizações a dirigirem-se em cortejo pacífico ao "Palácio de Inverno" para entregar ao czar uma petição, no domingo 9 de Janeiro (22 de Janeiro, depois que a URSS adoptou o calendário gregoriano). O governador de Moscovo, tio do czar, achou que Gapone ia longe demais. O resto faz parte do conto que vão ler.
Gorki participou dos acontecimentos, dirigiu-se ao Governador pedindo a retirada das tropas, dado o carácter pacífico da manifestação, e redigiu, após as mil mortes daquele dia, um manifesto violento que o conduziu à prisão.
As consequências da acção que o texto narra foram enormes para a história da Rússia e da Humanidade. Uma primeira revolução falhada, ensaio geral para a segunda, que triunfaria em 1917. O povo desce à rua em massa e toma consciência da sua força; as cruzes e os ícones não voltarão a aparecer em manifestações populares. O socialismo está em marcha. O conto foi publicado em Berlim, em 1907, e na Rússia só em 1920.
2 - Sacerdote ortodoxo russo.
3 - Célebre avenida de São Petersburgo que retira o seu nome do rio Nieva.
4 - São Petersburgo é uma cidade edificada sobre várias ilhas.
5 - Camponês russo.
Máximo Gorki
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















