



Biblio VT




Mais um daqueles lugares cheios de babacas.
Era óbvio para Freeman. O abrigo se parecia com todos os outros pelos quais ele passara nos últimos seis anos. Claro, este era feito de pedra e a maioria dos outros era de tijolo. Este ficava nas montanhas, cercado de grandes carvalhos e com tanta paz e quietude que dava até para ficar piroca das ideias.
Pelo menos a cerca não tinha aquele arame farpado passando por cima, como naquela casa em Durham, com os sem-teto e os viciados sempre tentando pular — como se um abrigo tivesse a felicidade de uma Terra do Nunca ou algo assim.
Nenhum abrigo era bem-vindo. Só que mesmo da estrada dava pra dizer que esse lugar era diferente. Tinha cara de que comia crianças com um sorriso malévolo. Era uma construção com uma personalidade de “vai nessa, maluco”.
Ou será que era ele quem tinha um problema de personalidade? Será que um pelotão de conselheiros, terapeutas e filantropos não tinha jogado para escanteio todas as traquitanas dissociativas-etcetera-e-tal e pregado os “casos perdidos” na testa como se fossem capachos para as portas do cérebro? Todos eles, exceto o bom e velho papai, que chegara mais ao fundo na cabeça dele que qualquer outra pessoa.
Freeman olhou para o motorista: Marvin Alguma-coisa. Não era médico, só um cara comum. Pele escura, loção pós-barba barata, óculos de sol, papel de chiclete no cinzeiro. Pelo menos o Marvin tinha o cuidado de olhar por cima dos óculos de sol para ver os olhos de Freeman e o tratava como se fosse uma pessoa e não como um problema ambulante.
Ou talvez Marvin trabalhasse para a Fundação.
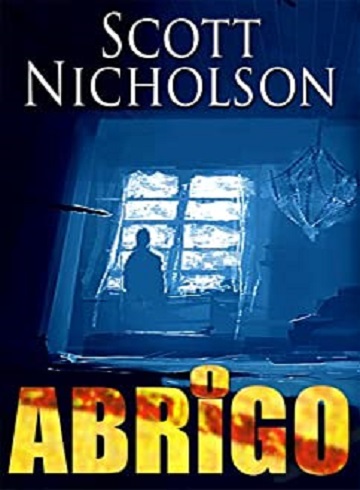
Freeman pensou em fazer triptrap no Marvin, mas ele estava depressivo e o triptrap não funcionaria se estivesse assim tão para baixo. Além do mais, o pessoal da Fundação era profissional na arte de não revelar nada. Eles tinham escudos. Se era por causa de algum tipo de implante ou se eles eram proibidos de pensar, Freeman não sabia dizer. A Fundação com certeza não deixaria livros secretos de decodificação espalhados por aí.
— O que você acha, Freeman? — perguntou o motorista, mostrando com um aceno de cabeça o prédio e a área em volta.
— Não é tão ruim. — Freeman percebeu que não adiantava provocar o bom e velho Marvin. Podia muito bem lhe dar o benefício da dúvida. É claro que não era todo mundo que pertencia à Fundação. Além do mais, Marvin mal havia falado durante a viagem de quatro horas desde Durham e tinha devorado dois sanduíches gigantes do McDonald’s. Mas e se o Marvin tivesse deixado o rádio sintonizado em alguma estação religiosa sacal, ajustando os botões sempre que a transmissão estivesse ruim? Pelo menos Marvin não tinha tentado convertê-lo, ou pior: perguntado ao Freeman sobre o passado.
— A Wendover é uma das melhores — disse Marvin mexendo no rádio e desligando-o por um momento. Assim que eles começaram a subir a serra, a música de Jesus tinha adquirido um nasalado de gente branca cantando com iodeleis mal disfarçados. Freeman se perguntava o que o Marvin achava dos brancos que roubavam os spirituals do seu povo, colocando música de órgão como fundo nas músicas, chamando-os de “gospel sulista” e ganhando uma baba com eles.
Parecia que o Marvin não se importava com isso. Parecia que o Marvin não se importava com nada. Ele definitivamente não agia como gente da Fundação. A maioria daqueles trogloditas era fria e prepotente como se tivesse assistido a muitos filmes do Geene Hackman representando agentes do Serviço Secreto. Mas eram aqueles que você não tinha certeza, aqueles de tipo bem comum, com as roupas feias, esses eram os mais perigosos.
Freeman olhou fixamente os campos pela janela novamente. A cerca era de pedra até a altura da cintura, com três metros de barras de ferro fundido. No fundo da propriedade, havia três árvores ao longo da cerca. Seria muito fácil para ele pular a cerca se lhe desse na telha, mesmo com aquelas pontas afiadas na parte de cima. Dando uma de Um sonho de liberdade.
O abrigo estava a uns cem metros da cerca, com alas de dois andares que se estendiam a partir de uma entrada principal de três andares. O prédio parecia um passarinhão cercado de sua própria massa de ossos quebrados. As janelas tinham toldo em todas elas, dando uma aparência de olhar cabisbaixo. Mesmo com a fachada de pedra, o prédio tinha aquele ar institucional como se fosse sempre escuro por dentro e trancasse os pensamentos independentes em armários de limpeza como punição.
Uma meia dúzia de pequenos chalés ficavam espalhados nos limites arborizados com complexo e uma lâmina de prata marcava um lago atrás da propriedade. Os gramados eram bem aparados, os carvalhos e os bordos tocavam o chão como enormes dedos nodosos. Uma fila de salgueiros fenecia perto do lago tão tristemente como uma fieira de viúvas.
— Parece antigo — disse Freeman.
— Uns setenta anos — completou Marvin. — Velho para uma pessoa, talvez, mas não para um prédio.
Quando se tem doze anos, setenta era velho para tudo. Até para Deus. Freeman tentou pensar numa retomada sagaz, como um ator que achasse que sua improvisação era sempre melhor que o roteiro.
— Foi construído durante a Works Project Administration — disse Marvin. — Logo depois da Depressão.
Parecia que a Depressão lá nunca tinha acabado, como se a sombra de tempos difíceis se agarrasse em todos os cantos e recantos do abrigo. Isso se encaixaria perfeitamente para o Freeman.
Saíram da estrada rumo ao portão principal. Estava aberto com as barras articuladas para fora. Em Durham, o portão estava sempre fechado. Se era para impedi-los de entrar ou de sair, Freeman nunca soube. Os conselheiros não gostavam de dar muitas informações.
Aqui, talvez, eles confiassem nos outros.
Até parece. “Confiança” era mais uma dessas palavras fortes que os vigilantes da personalidade usavam para dar na sua cara. Confiança, autoestima, mente aberta, capacitação. E aquela parruda: esperança. Nada mais que um desperdício ostensivo de letras.
E a Fundação era uma palavra negativa para Freeman. Papai trabalhara para a Fundação. Ou, como Papai costumava dizer, a Fundação era o meio para o fim do Freeman.
Enquanto o carro passava pela penumbra da entrada, Freeman lia os dizeres “Abrigo Wendover” num pergaminho de metal em cima do portão. O estilo das letras era antiquado, como o tipo usado naqueles livros de capa dura em couro que ele roubara da biblioteca da Academia Durham.
— Esse lugar sempre foi um abrigo? — perguntou Freeman.
Marvin estava murmurando junto com o rádio na sua voz de baixo profundo. Parecia que ele conhecia música de branco. — Não. Ele é abrigo para menores há uns dez anos. Ficou desocupado um tempão antes disso.
— Aposto que é um imóvel bem caro. — Eles passaram por uma sequência de mansões no caminho, com subdivisões de nomes tipo “Prado dos Alces” e “Carvalhos da Carolina”.
— Um monte de gente rica tem casas de veraneio aqui — disse Marvin. — É cheio de campos de golfe e resorts por aí. Tem umas rampas de esqui também.
Freeman voltou o olhar para longe do prédio que viria a ser seu próximo abrigo temporário. Ficou analisando as montanhas que se erguiam acima do fundo do vale. As cores vermelho e dourado do outono se espalhavam em meio ao azul acinzentado e o verde. Grandes veios de granito surgiam nos penhascos de picos brutos e recortados. Freeman se pegou comparando-os aos altos edifícios da cidade. Sem comparação. Os edifícios eram muito mais horripilantes — eram cheios de pessoas.
— Será que vão nos levar para esquiar? — Freeman nunca esquiara. Ele não tinha certeza de que queria ir, mas estar em campo aberto num mundo encoberto da reluzente candura da neve parecia algo com que ele sempre sonhara.
— Não sei dizer. Sou só o motorista do Serviço Social.
Serviço Social. O inimigo, quase tão mau quanto a Fundação. Sabiam o que era melhor para todos, gostassem ou não. Marvin era muito legal para ser um deles. Freeman se debruçou sobre a porta do carro.
Eles chegaram até o fim da rua sem saída em frente à porta dupla e Marvin parou o carro antes de uma escadaria de largos degraus de concreto. — Lá vamos nós — disse Marvin. — Wendover.
Freeman olhou de esguelha as janelas no primeiro andar. Um movimento num borrão pálido apareceu em uma delas. Um rosto? Alguém observando?
Já era paranoia. Bom.
Freeman torceu a boca numa careta. Melhor começar logo com o pé direito, andar centrado, firmeza na voz, olhos espremidos como um Clint Eastwood em miniatura com calo na bunda. Pronto para chupar prego até virar parafuso.
Freeman saiu do carro e tentou manter a pose. Encheu os pulmões de ar e pensou que algo estava errado. Ele percebeu que não tinha nenhum cheiro de lixo, nem de fumaça, nem de escapamento de carro. O ar estava puro, limpo, revigorante, com o olor fresco de pinho e água corrente. Então era esse o ar dos Apalaches de que todo mundo falava na hora de prometer que ele estava indo para um lugar melhor.
Marvin abriu o porta-malas e pegou a bolsa de ginástica que continha todos os pertences mundanos do Freeman. Freeman olhou para a janela de novo como quem não quer nada, num frio que quase congelava a respiração. O rosto — ou o que quer que fosse — apareceu e sumiu.
Freeman ficou boquiaberto e bem ressabiado.
Deve ter sido o sol. O reflexo de uma nuvem. Um rosto não some assim.
Freeman jogou a bolsa nas costas e seguiu o Marvin escada acima. Até andando o Marvin era maneiro com aquela elegância atlética. Freeman ficou tentado a imitar os passos leves do motorista, mas, como era difícil ser sereno e abrutalhado ao mesmo tempo, ele não conseguiu mostrar sua malemolência.
Marvin segurou uma das portas abertas e guardou os óculos escuros no bolso do casaco. Bem-vindo ao lar.
Lar. Freeman já ouvira essa palavra — umas doze vezes nos últimos seis anos.
O lugar bafejava seu cheiro de um saguão como um líquido, sugava o ar fresco com seus pulmões e o substituía com uma corrupção densa, como um fedor de jornal molhado e bolorento.
— Wendover, aí vou eu — disse animadamente, esperando enganar o velho Marvin.
Ele entrou no prédio e foi como se passasse do dia para a noite sem o lusco-fusco entre um e outro, e seus olhos precisaram se adaptar à escuridão. O teto do corredor subia a seis metros do chão. O piso era de ladrilhos intercalados de cinza e marrom, do tipo que disfarça manchas de sangue e vômito. Uma faixa de tapete vermelho jazia sobre o pavimento como uma língua enfastiada.
— Senhor Mills — chamou uma voz alta e fina. Voz de homem, mas não daqueles de coçar o saco. Um bunda-mole qualquer. Freeman levantou os olhos começando pelos sapatos de couro pontudos na frente dele.
— Tá falando comigo? — perguntou Freeman. De Niro em Taxi driver, não Eastwood, mas Freeman imaginava que um olhar de esguelha de Clint não teria efeito numa luz ruim. Ele deu a mesma fala, mudando a ênfase da prosódia. — Tá falando comigo?
— Bem-vindo — disse o homem estendendo a mão. Ele era careca e os olhos eram tortos por detrás das grossas lentes dos óculos. O bigodão parecia uma escova, como se estivesse usando uma daquelas máscaras de Grouxo Marx. As pálpebras eram pesadas e arroxeadas. Os olhos opacos e saltados piscaram e o homem lambeu os lábios. O primeiro pensamento de Freeman foi Homem-lagarto.
Freeman apertou-lhe a mão. Era fria e úmida, como o interior do prédio.
— Francis Bondurant — disse o Homem-lagarto. — Sou o diretor do Abrigo Wendover.
— Pode me chamar de Chip, como o chip, que é o cérebro do computador — disse Freeman.
O Homem-lagarto franziu os lábios e Freeman ficou esperando uma linguona se lançar para fora a qualquer momento e capturar um mosquito no ar. — Ora, ahm, sim, Sr. Mills. Como foi a viagem?
— Foi um passeio legal — respondeu Freeman com uma ponta de resistência. Ele não iria desrespeitar o Marvin e chegar botando banca em cima do cara.
— Ele se comportou bem. Um cavalheiro mesmo — observou Marvin. O Homem-lagarto pareceu notar o motorista pela primeira vez, ainda que ele estivesse bem ao lado do Freeman. Talvez o Lagartão não gostasse “da cor”.
— Comportou-se, então? — Agora que o Homem-lagarto tinha um adulto com quem conversar, ele ficou como os outros, falando através do Freeman como se ele não estivesse lá. — Bem, esperamos que ele comece aqui com o pé direito. Wendover tem uma reputação de ajudar os que não se ajustam.
Os que não se ajustam. Falando assim o Lagartão, pareceu um jogo, como estatísticas a serem superadas de uma média de tacadas contra um arremessador novato. Talvez Wendover fosse o motel barato das casas de abrigo. Os que não se ajustam se registram, mas nunca saem.
— Isso aqui é parte da papelada dele — Marvin puxou um envelope de algum lugar interno do casaco. —O senhor deve ter recebido o restante pelo correio.
O Homem-lagarto analisou os papéis, certificou-se de que tudo estava assinado corretamente e assentiu brevemente. Freeman achou a transação parecida com aquelas trocas de prisioneiro em filme de guerra.
— Muito bem — disse o Homem-lagarto ao Marvin. — Está com pressa de voltar ou gostaria de ficar um pouco?
Marvin arrastou os olhos pelo interior acabado, passando pela pintura a óleo sem brilho de um barco, os painéis de lambris sobre as paredes com pontos de estufamento, o revestimento do forro que parecia ter sido borrifado de café. — Obrigado pela oferta, mas ainda tenho que conduzir um estudo bíblico no outro lado da montanha. Não vou deixar que um dos jovens interprete mal a parábola dos peixes.
— Amém — disse o Homem-lagarto. Freeman notou na hora que o homem caiu naquelas respostas automáticas a Jesus e não sabia nada sobre a parábola dos peixes. — Bem, muito obrigado por resgatar este jovem Daniel da cova dos leões.
— Ele ainda não foi resgatado, Sr. Bondurant. O senhor e a sua equipe ainda têm que conduzi-lo por todo o caminho até a salvação.
— Com certeza.
Para Freeman, Marvin disse: — Até mais ver, Freeman. Espero que dê tudo certo.
— Obrigado pela carona. — Freeman quase chegou a apertar as mãos de Marvin, mas ele não queria se confundir e ficar no vácuo entre uma batida de mãos e um cumprimento étnico. Assim sendo, só balançou a cabeça. De qualquer maneira, era para parecer durão. Ele não amoleceria só com palavras agradáveis e um lanche. Isso era pouco para impressioná-lo.
— Vejo vocês por aí — disse Marvin para os dois, fechando a porta. O feixe de luz do sol que atravessava durante sua saída dava um vislumbre do imenso mundo verde por detrás. Em seguida, a porta chegou ao limite de fechar, batendo com a decisão de uma tampa de caixão.
Freeman estava em casa.
CAPÍTULO 2
Francis Bondurant já estava construindo um arquivo mental com sua última acusação. Enquanto Bondurant fingia ler os relatórios na escrivaninha, secretamente ele estudava Freeman Mills por sobre a armação de seus óculos. O rapaz espreguiçou-se na cadeira de couro estofado em frente à mesa do Bondurant, olhando os quadros nas paredes: gravuras de Brügel, Goya e Rafael Sanzio — tipo de arte religiosa que inspirava as mentes mais jovens ou que, pelo menos, incutia-lhes um pouco de medo.
— Parece que você teve um problema na Academia Durham — lançou Bondurant apertando os lábios em conveniente desaprovação.
Freeman não respondeu, só arrastou os pés no tapete.
“Taciturno” era o adjetivo que Bondurant passou para seu arquivo mental. Ele tinha dois gabinetes cheios de documentos, relatórios, pontuações de Avaliação Global de Funcionamento, registros policiais e dados da Assistência Social, mas ele preferia constituir seu próprio portfólio para cada um dos internos de Wendover. Com esse método, ele conseguia direcionar os poderes de cura do Senhor para essas crianças desobedientes. Era preciso carregar as crianças em seu coração antes de elevá-las a uma glória mais excelsa. Mesmo que o Dr. Kracowski tenha solicitado e arranjado a transferência de Freeman Mills, isso não significava que a alma atormentada do rapaz estava totalmente aos cuidados da ciência.
— Quer conversar sobre o assunto? — perguntou Bondurant. — Às vezes a distância ajuda a colocar as coisas numa perspectiva.
— Está tudo nesses papéis. — O rapaz deu de ombros, o rosto suave e feminino emoldurava olhos severos. — Se está escrito, eu devo ter feito. Você sabe que eles nunca estão errados.
— Você contra eles? É assim que o senhor vê as coisas, Sr. Mills? — Bondurant pousou a caneta e dobrou as mãos sob o queixo.
— Não. É assim que eles veem as coisas.
Bondurant sorriu. Isso seria um prazer. O demônio se infiltrou nessa criança, sussurrou-lhe perversidades no ouvido, transformou-lhe o coração em pedra. Bondurant, porém, empunhava a espada reluzente e o cetro vingador quando usava a palmatória que guardava na gaveta de baixo. A “Outra Face” era três palmos de nogueira sólida e corrigiu comportamentos de garotos mais robustos que o Freeman.
Bondurant leu os relatórios psiquiátricos que o motorista lhe entregara. Transtorno bipolar, comportamento antissocial periódico, surtos de mania de gravidade moderada, delírios de grandiosidade e de perseguição. Um médico registrara uma suspeita de transtorno ciclotímico, lançando um asterisco e um ponto de interrogação ao lado da palavra “esquizoafetivo”.
Diagnóstico vodu. Esses médicos, com seus complexos de Deus, não conseguiam ver o transtorno mais óbvio do garoto. Freeman Mills precisava se acertar com Deus, precisava consertar seus caminhos do pecado, precisava deixar Jesus curar seu coração perturbado. Bondurant tirou os óculos e fingiu limpá-los.
Tentativa de suicídio, registrou. Não dava para evitar. Deixe o garoto aprender que em Wendover não se doura pílula.
Freeman deu de ombros e inconscientemente esfregou as cicatrizes no pulso: — Na época parecia ser uma boa ideia.
Um lar desfeito. Tantos lares desfeitos hoje em dia. Mãe assassinada quando Freeman tinha seis anos, de acordo com o histórico do caso. O pai, um talentoso físico e psicólogo clínico, condenado pelo crime e confinado a um hospital psiquiátrico. Essa punição era a justiça divina na mente de Bondurant, mas ainda restou uma vítima inocente. Só que Bondurant estava bastante convicto de que nenhum desses jovens era inocente, de outro modo elas não estariam sob a guarda do Estado.
— Seu pai sabe que o senhor está aqui?
O garoto se encolheu na cadeira e seus olhos se desviaram como se esperasse uma sombra avultar sobre ele. Bondurant reconheceu a mistura de raiva, dor e medo. Muitas das crianças de Wendover usavam essa máscara, especialmente quando se lhe falavam dos pais.
— Por que você tem que meter esse canalha no assunto? — perguntou Freeman.
— Preciso conhecer você para poder lhe ajudar.
— Eu pedi alguma ajuda? Por que é que psicólogo sempre acha que me corrigir é uma missão?
Complexo de perseguição. É o que os psicólogos diriam. Bondurant sabia, porém, que a perseguição não era mesmo um problema. O bondoso Senhor Jesus Cristo era o garoto-propaganda da perseguição e o Senhor certamente vencera.
— Duas detenções por furto em lojas — Bondurant lia em voz alta. — Fuga de abrigos de reabilitação. Vandalismo. Revirou lápides num cemitério presbiteriano. O que é que o possuiu para você fazer isso?
Freeman não disse nada.
Bondurant reclinou a cadeira de couro. — Aqui nós não temos esse tipo de comportamento tolo. Estamos entendidos?
Freeman assentiu, parecendo estar quase às lágrimas. O garoto fechou os olhos tentando se controlar.
— Ah, uma lição de humildade. — Bondurant retomou o sorriso. — Temos uma regra simples aqui em Wendover, Sr. Mills. Posso chamá-lo de Freeman?
O garoto assentiu novamente.
— A regra é: respeite a si mesmo e aos outros.
— Pra mim, são duas regras.
— Não foi uma resposta muito respeitosa, não é?
— Não, senhor. — A voz de Freeman estava quase inaudível, engolida pelas grossas paredes revestidas do escritório. O telefone tocou e Bondurant cravou os olhos nele, irritado por ter sido interrompido durante uma tarefa tão importante.
Ele atendeu ao terceiro toque. Era Kracowski ligando. — Francis.
Nenhuma pergunta, nenhuma saudação. Um fato apenas. A extensão de linha entre eles não fazia Bondurant se sentir mais à vontade porque o escritório de Kracowski estava no fim do corredor. Ele ajustava a gravata.
— Pois não, Dr. Kracowski? — Bondurant apertava os dedos segurando o fone. Bondurant não conseguia aceitar que um homem mais jovem insistisse em ser tratado de “doutor” enquanto ele mesmo pudesse ser chamado pelo nome. Não importava se o Kracowski era seu vale-refeição, o homem cujos êxitos deixaram Wendover visível aos olhos de quem tinha influência e dinheiro — mesmo que o apoio financeiro tivesse ficado meio sigiloso nos últimos meses.
— Há um problema. — Kracowski proferiu a afirmativa sem nenhuma inflexão. Seria um problema bom ou um problema mau?
— Que tipo de problema, senhor? — Bondurant quase engoliu a língua na última saudação.
— Fronha.
— Como é?
— Terapia de útero. O Dr. Swenson me disse que a situação ficou ruim.
Alguns dos métodos não ortodoxos de Kracowski, se descobertos, fariam o Departamento de Assistência Social realizar uma investigação de grandes proporções em Wendover. Não importa se Kracowski (e, portanto, Wendover como um todo) produzisse resultados, com muitas crianças já reintegradas com sucesso ao lar e à sociedade. A cura tinha de ser feita de forma adequada, segundo os livros. Kracowski deve ter lido esses livros de trás para frente, rasgado algumas páginas e feito anotações nas margens de muitas delas. E todo aquele maquinário novo no porão...
Bondurant tinha que sofrer em silêncio e ignorância. Ele olhava para a cruz na parede, o símbolo d’Ele, que sabia o que era sofrimento. Bondurant sorriu para Freeman e tentava manter a ilusão de tranquila superioridade. — E é grave? — perguntou a Kracowski.
— A criança está inconsciente.
— Sei — disse em voz alta, embora intimamente estivesse procurando a blasfêmia verbal perfeita que somente um pecador conseguisse invocar.
— Está sob controle. Foi uma parte necessária do tratamento.
— Estou certo de que não será um problema. — A criança provavelmente não se lembraria do tratamento. Bom para o Kracowski que não produzisse possíveis testemunhas contra ele próprio.
— Não será necessário administrar atropina desta vez — comentou Kracowski. — Bastará uma recuperação natural.
Freeman se levantou da cadeira, deu uns passos para frente e para trás, andou até a estante e correu os dedos pelos livros. Bondurant tapou o bocal do fone com a mão e observou: — Desculpe-me, Sr. Mills, mas acho que ninguém lhe deu permissão para se levantar.
Em seguida, para Kracowski: — Um momento, senhor.
Bondurant apertou um botão de ramal que tocou num telefone de um escritório adjacente. — Srta. Walters, chame a Srta. Rogers até aqui. Temos um membro da família Wendover que precisa ser apresentado ao seu quarto.
Uma voz entrecortada por estática respondeu:
— Sim, senhor.
Freeman ignorou Bondurant e se impacientava diante da estante. Pouco antes da porta do escritório se abrir, Freeman mirou Bondurant nos olhos pela primeira vez e afirmou: — Ela vai ficar bem assim que voltar a respirar.
Bondurant franziu as sobrancelhas. Esse garoto era espertinho demais. Como que achasse as palavras no ar, de peito para fora e olhos semicerrados, um esboço de desafio. Talvez fosse a mania, o ciclo de euforia na depressão maníaca do garoto, que fazia brotar o mau comportamento. Ou talvez fosse o delírio de grandeza. Agora, porém, ele devia desculpas e Bondurant acreditava que o mal era inato e que o perdão deveria ser conquistado — pela dor, se necessário.
A porta se abriu. Bondurant manteve deliberadamente os olhos fixos nas costas de Freeman. Olhar para Starlene Rogers inspirava ciúmes. — Freeman, esta é a Srta. Rogers — apresentou.
Freeman virou-se para a mulher, sorrindo. — Olá, Srta. Rogers. O dia está lindo nas redondezas.
— Olá, Freeman — disse ela. — Bem-vindo a Wendover.
— Leve-o à sala azul — pediu-lhe Bondurant. — Vou mandar que entreguem sua bagagem mais tarde.
Bondurant desferiu um olhar de esguelha para Starlene. Ela era alta e um pouco robusta, uma moça do interior criada na roça, com plantação, animais e sermões de domingo. Mesmo no tailleur azul-marinho, suas curvas insinuavam um caminho especialmente prazeroso à danação eterna. Sua integridade, porém, era uma ameaça; sua inocência realçava a impureza dos outros. Bondurant não podia prolongar muito seu ressentimento, sabendo que Kracowski o aguardava na linha.
— Acompanhe-me — disse Starlene, estendendo a mão para Freeman. O garoto olhou para ela, tentando manter uma expressão desconfiada, mas Bondurant não conseguia saber se era uma atuação. Starlene sempre deixava as crianças à vontade. Ela tinha um jeito calmo, tranquilo, que realçava o seu charme. Bondurant achava a característica irritante, desconfiando de um motivo inconfesso que a fazia fingir ter um coração tão puro.
Ela saiu com Freeman, que apertava a barriga como se tivesse comido doce demais, e enquanto Bondurant esperava a porta se fechar fitava a estante de livros.
— Francis? — chamava a voz impaciente de Kracowski ao telefone.
— Sim, prossiga.
— É só não deixar ninguém chegar na Treze até eu dar autorização.
— Sim, senhor. — Bondurant estava acostumado a aceitar as ordens dele sem pensar. Sua atenção estava voltada para a estante. Um dos volumes capa dura de couro estava fora do lugar, bem próximo de onde ele colocara o globo de bronze que ganhou da Comissão Estadual pela Iniciativa da Infância.
O globo tinha sumido.
O pestinha o surrupiara. Ah, não, lá estava ele, uma prateleira abaixo. Bondurant notou que não ouviu o que Kracowski acabada de lhe dizer. — Perdão. O senhor disse alguma coisa sobre a Treze?
— A paciente que estamos tratando.
Bondurant então esperou que o abrigo não se tornasse alvo de um escândalo. Até então Kracowski conseguira manter tudo arrumado e debaixo do tapete, mas os tratamentos experimentais dele ficaram cada vez mais estranhos. — E como ela está? — perguntou Bondurant.
As palavras de Kracowski provocaram um arrepio mais gelado que o ar morto e parado do porão de Wendover:
— Ela vai ficar bem assim que voltar a respirar.
CAPÍTULO 3
O Salão Azul de Wendover era um grande alojamento aberto na ala sul do prédio. Freeman supôs que o nome adviesse das paredes azul-celeste, uma cor provavelmente escolhida por um cientista social miolo-mole que resolveu que o céu conferia passividade. O grande cômodo era perfilado de catres, com um tapete cinza-industrial estendido até o corredor entre as duas colunas. O restante do piso era revestido de ladrilhos pardos que sugava a luz no corredor. Se as paredes fossem verde-oliva ou cáqui, o lugar poderia ser confundido com um alojamento de quartel.
— Estou sentindo que não vou ter um quarto só pra mim — comentou Freeman com Starlene. Das doze camas, a maioria tinha um baú de madeira aos pés e havia meias sem par e gibis espalhados nas sombras.
— Os outros estão na aula agora. — Ela o deixou numa cama perto da parede dos fundos. — Esta aqui é sua.
Freeman apertou a cobertura do catre. Nada. Bem, ele não estava ali para seu sono de beleza. Sonhos, então, estavam fora de cogitação. — Que aconteceu com a criança que estava aqui antes de mim?
— Como é? — Starlene ainda tinha aquele sorriso puro e paciente. Ela tinha um perfume gostoso, também; parecia chiclete.
— Sou supersticioso, tá bem? — Ele esperou que ela lhe dissesse que estavam no século XXI, que não tinha nada dessas coisas, que Wendover não permitia essas tolices. Afinal de contas, ela era conselheira.
— Ele encontrou um lugar permanente — respondeu ela. — Essa cama deve dar sorte.
Permanente. Freeman notara que essa palavra era fácil para pessoas que tinham família, casa, futuro. — Um pouco de sorte ia me fazer bem.
— É um recomeço, Freeman. Não sei o que lhe aconteceu antes, mas você pode deixar tudo isso para trás. É por isso que estamos aqui. É por isso que eu estou aqui.
Freeman se sentou no catre, pensando onde estaria sua bolsa. Provavelmente o Bondurant bafo-de-lagarto estava revirando seus pertences, tentando encontrar drogas, bebida ou revistinhas pornô. — Quantos estão aqui além de mim?
— Wendover abriga quarenta e sete no momento, contando com você. Temos licença para sessenta, mas com essa nova ênfase do estado em reunir as crianças com as famílias...
— É sair da lama e cair no atoleiro. Os números ficam ótimos no papel, mas ninguém nunca vai visitar a casa da família depois para ver o que está acontecendo? É, eu já ouvi umas histórias.
— Ah, um crítico social? — Starlene se ajoelhou ao seu lado, impedindo-o de olhar para outro lado. Ela tinha dentes fortes, certinhos. Quase perfeitos. — Você tem família?
— Tenho. Uma mãe virgem e um pai que peida enxofre.
— Está com fome, Freeman?
Freeman percebeu que estava com os punhos cerrados. Ela estava tentando arrancar alguma coisa dele. Eles adoram quando acham que vão entrar na sua cabeça e embaralhar os circuitos. A vida é mais fácil quando se atua com eles, fazendo-os sentir bem com eles mesmos por “ajudar”.
— Não é raiva; é tipo uma dor indefinida — disse ele.
— Você deve ter essa dor no coração.
Na verdade, a dor era mais embaixo, na parte sobre a qual ele se sentava.
Ele, porém, não via razão para ser mau com ela. Ela não poderia desfrutar muito da vida se passasse o dia todo com moleques estragados. Ele deveria ser aquele que sente por ela, por ter gente despejando seu lixo pessoal na cabeça dela. A única coisa que ela podia fazer era sorrir, aguentar e depositar os cheques. Só que ele não conseguia demonstrar piedade alguma. Provavelmente ele a veria numa terapia de grupo ou individual, mas teria de mantê-la a uma distância segura. De qualquer maneira, essa barreira estava se enfraquecendo. O ciclo hiperativo sempre chegava como um foguete, mas terminava como um busca-pé.
— Acho que são os meus pés — disse ele. — Acho que vou tirar o tênis e ficar aqui um pouco.
Ele colocou os pés no catre e tirou o tênis. Um dos dedões estava para fora da meia, preso num furo. Por algum motivo, ter um estranho olhando seu dedão nu o deixou encabulado. Ele meteu o pé sob as pernas para esconder as meias puídas.
Uma campainha soou e fez seu ruído reverberar pelas paredes de concreto. Enquanto o eco desvanecia, outras campainhas soaram por todo o prédio alternadamente.
— Terminou a aula — explicou Starlene. — Em breve você vai conhecer seus irmãos e irmãs de Wendover.
— Uma família grande e feliz, claro.
— Somos todos membros da família de Deus.
Primeiro Bondurant, agora essa mulher, falando pesado do trabalho de Deus. Wendover deve ter perdido o bonde da separação entre Igreja e Estado. Pelo menos Starlene não era nazista quanto a isso. O olhar dela era constante e os olhos, brilhantes. Eram muito azuis — ou talvez refletissem o azul das paredes. Os olhos dela eram como ele imaginava os de Joana d’Arc, olhos de mártir, condenados a ver demais.
Olhos como os de sua mãe, antes que a morte os fechassem para sempre.
Só que Starlene não era sua mãe. Nenhuma delas era: nem a conselheira com bafo de uísque em Durham, nem a governanta espanhola desvairada da Mansão Tryon, nem a mãe adotiva de Charlotte — que fizera Freeman pintar estatuetas de argila para “pagar a custódia” mesmo recebendo uma bolsa do governo para isso.
Ouviam-se vozes do fundo do corredor — gritos de crianças agitadas e faladeiras.
— É melhor eu ir embora — disse Starlene. — Seus supervisores aqui são o Phillip e o Randy. Eles são gente boa.
Starlene voltou por entre a fileira de catres e não parecia mais intimidadora agora que estava indo embora. A ameaça de bondade contínua esmoreceu à medida que ela se distanciava.
Freeman analisou as possíveis rotas de fuga. Seu catre estava sob a única janela, uma placa de vidro sujo a pouco mais de quatro metros acima. No canto havia uma porta de aço com uma bruta fechadura presa à maçaneta. Havia uma luz vermelha piscando num painel junto à fechadura, como se usasse algum tipo de senha eletrônica.
Freeman olhou para a porta pela qual saiu Starlene. Essa tinha a mesma fechadura eletrônica. Afinal, os procedimentos em caso de incêndio não permitiam que eles trancassem as crianças e engolissem a chave. Ele passou apressadamente pelo cômodo com as meias nos pés.
A porta não estava trancada e ela se abriu rangendo as dobradiças. Tomou nota de que precisaria untá-la com um pouco de óleo caso precisasse se esgueirar em fuga. O saguão estava vazio; o calçado de Starlene soava num eco monótono dobrando o corredor. Ele estava prestes a fechar a porta quando viu um homem chegando na direção oposta.
Provavelmente o faxineiro. Só que o faxineiro devia estar mais bem vestido que esse cara. Ele vestia algo parecido com um uniforme pálido de doente, cinza e com manchas. O cocuruto dele reluzia à luz meio soturna e alguns chumaços de cabelo oleoso se agarravam à careca. Seus olhos eram inanes e vazios.
Ele parecia um bêbado ou um vagabundo. Ainda assim, era um adulto e Freeman aprendera que, nesses abrigos, os adultos de hierarquia mais inferior ainda estavam acima das crianças. Freeman acenou para ele, mas o homem continuava sua aproximação silenciosa.
— Por favor, senhor, sabe onde está minha bolsa? — Freeman perguntou sem qualquer provocação na voz. Às vezes, faxineiros estranhos podem virar aliados — se não forem pervertidos.
Em Durham, Tony Biggerstaff subornava os supervisores de fim de semana para que clandestinamente passassem todos os filmes proibidos para menores que os garotos tivessem estômago de assistir. Freeman nunca soube como Tony os pagava, se com dinheiro, drogas, a irmã dele ou ele mesmo. Ele nunca perguntou e Tony nunca confessou. Sem o sacrifício de Tony, porém, Freeman nunca chegaria a apreciar a Santíssima Trindade: Eastwood, De Niro e Pacino. Saia dos Smurfs e animes japoneses para aprender algumas lições de vida.
O faxineiro se aproximou mais, com os pálidos lábios tremendo — e também as mãos. Havia algo de estranho no seu andar. Os pés descalços se espichavam por debaixo da bainha das calças, sem fazer som algum sobre o piso de ladrilhos.
Que faxineiro anda por aí descalço?
— O senhor trabalha aqui? — Freeman olhou mais à frente no corredor para ver se Starlene voltava.
O homem não respondeu. Ele estava então próximo o bastante para que Freeman lhe notasse os poros do rosto oleoso. Duas meias-luas escuras pendiam nas sombras sob os olhos vidrados. Um fio de baba se dependurava do canto enrugado da boca. As pernas se moviam com os braços flácidos emoldurando-lhe o tronco. Um cheiro de carne velha e empoeirada passou por sobre Freeman.
O homem passou o garoto, próximo o bastante para alcançá-lo e tocá-lo, mas Freeman não ousaria fazê-lo — nunca se sabe qual desses funcionários gritaria, qual deles era importante, ou qual seria preciso impressionar vez ou outra. Nunca se sabe qual deles tem o futuro de alguém nas mãos. Sério, esse homem seco e estranho não parecia ser um dos conselheiros, mas nunca se sabe quais são os joguinhos que eles usam para testar.
E se esse cara estivesse com a Fundação, certamente tinha joguinhos em mente.
Freeman esperou ser interrogado sobre sua ausência na aula. O homem, no entanto, passou cambaleando, com os olhos fixos como se Freeman não existisse. Os pés enrugados exibiam toda uma cartografia de veias roxas; os ossos calcificados tinham nós, mas eles se erguiam e baixavam firmemente. O homem andava como se tivesse um destino logo além da parede e não percebesse que ela estivesse no caminho.
Freeman teve outro pensamento. Talvez ele não fosse um funcionário do abrigo. Talvez ele nunca tivesse ido embora, nunca tivesse encontrado uma colocação permanente. Talvez fosse isso que acontecia aos indesejados quando cresciam. Por um momento, Freeman se imaginou num uniforme enodoado, condenado a uma vida longa, penosa e sem direção.
Freeman pensou em fazer uma pegadinha com ele, entrar no cérebro do esquisito, mas a agitação maníaca de uma hora atrás chegou a zero. Além do mais, cada leitura dessas tinha seu preço, de dores de cabeça a perda de identidade. Um dos motivos é que ele aprendera que todo mundo era insano, todo mundo tinha pensamentos e emoções estranhos e perversos. Uma voz falando na cabeça já era o bastante — e talvez uma já fosse até demais.
O velho dobrou num canto e desapareceu. Freeman voltou ao Salão Azul e deixou a porta bater com um sopro de ar. Ele se sentiu mais sozinho do que jamais se sentira em anos. Era quase tão ruim quanto o armário em que o pai costumava trancá-lo, onde os fios e luzes esquisitas e a dor geraram seu primeiro triptrap. Também o fizeram fazer coisas más e ter maus pensamentos.
Ele foi até seu catre e se sentou em silêncio, como um interno num campo de extermínio, até que as outras crianças chegassem.
CAPÍTULO 4
Bondurant ficou do lado de fora da sala acolchoada conhecida como Treze, ainda que não houvesse número algum na porta. A sala lhe lembrava mais a “Sala 101” de 1984 de George Orwell. No romance, a Sala 101 era onde os personagens enfrentavam seus maiores medos. Aqui, em Wendover, a sala era o local onde o Dr. Kracowski praticava suas terapias alternativas — com resultados finais semelhantes.
— Ela ainda está consciente? — perguntava ele pela porta aberta.
— Ela está bem. — Kracowski se endireitava, descurvando-se de sobre a cama da paciente. O doutor era de meia-quatro, magro e pálido, com olhos brilhantes e intensos. Ele colocou as mãos nos bolsos do jaleco branco que vestia como se tivesse lido um manual de instruções de postura científica.
No leito, com um cobertor de algodão puxado até o queixo, estava a garota. Bondurant observou com alívio que seu peito levantava e também que estava respirando. As bochechas dela estavam coradas e as pálpebras se contraíam, mas no geral ela parecia uma menina saudável de treze anos. Ele imaginou o que ela estaria sonhando.
— Ela respondeu à terapia — afirmou Kracowski. — Ela sofreu um pequeno trauma, mas quando voltar, estará mais à frente no caminho da recuperação.
Bondurant não tinha certeza se queria saber mais sobre a técnica que o doutor usara dessa vez. Terapia de útero, explicara Kracowski: sufocavam o paciente com travesseiros e impeliam-no a renascer. Soava como um sacrilégio, como todas as suas terapias. Bondurant poderia também entrar numa livraria metafísica e atirar projéteis às estantes. Reiki, qi gong, canalização, regressão a vidas passadas, grito primevo e todas as outras modalidades de cura acabaram chegando na sopa de letrinhas dos tratamentos do Kracowski. Algumas delas eram aceitas marginalmente, mas para a concepção de Bondurant, eram todas tão excêntricas e pagãs quanto a psicoterapia. E Kracowski fazia tudo em nome da ferramenta mais poderosa do diabo: a ciência.
Kracowski também tinha suas técnicas, montadas a partir de pedaços de disciplinas obscuras e crenças espirituais arcanas. Eram essas que mais assustavam Bondurant, mas Kracowski as mantinha ocultas de saco medicinal mental. Bondurant só sabia que os novos tratamentos estavam ligados ao maquinário no porão e que visitantes de rosto solene verificavam a evolução de Kracowski. Investidores silenciosos, com motivos silenciosos.
Esses, porém, não preocupavam Bondurant. A função principal dele era controle de danos. No restante do tempo, ele servia como o testa de ferro de Wendover, a marionete sorridente de gravata vistosa e aperto de mão lisonjeiro, o cavalheiro de unhas feitas que recusava bebidas em encontros sociais. — Quantos mais sabem disso?
— Quatro: Swenson; você; eu — apontou para a garota na cama como se quase tivesse se esquecido dela — e ela.
Swenson. O nó na boca do estômago do Bondurant se afrouxou um pouco. Paula Swenson estava de caso com Kracowski. Ela certamente não gostaria de arruinar as chances de se casar com os milhões do doutor dando com a língua nos dentes acerca de um contratempo. As vantagens maritais da mulher eram tão fracas quanto a de muitas outras que dividiram a cama com Kracowski e seus métodos de pesquisa nos últimos anos. Swenson, porém, não sabia dessas coisas; por isso, ficaria de bico fechado, ao contrário de outra parte de seu corpo vulgar.
Kracowski colocou a mão sob a manta da garota para sentir-lhe a pulsação. — Cinquenta e cinco — aferiu. — Ela não se lembrará de nada.
— Você a drogou, não é? — Bondurant sentiu sua voz áspera e sabia que esse tom beirava a insubordinação.
— Você sabe que eu não acredito nas drogas, Francis. Esse é, inclusive, parte dos problemas dessas crianças.
— Eu não achei que tivesse. Só receio que algo vá deixar algum... vestígio.
— A única coisa que quero deixar é a marca da cura. — Os olhos de Kracowski ficaram frios quando olhou a menina. Ela pode muito bem ter sido uma mariposa rara espetada num painel de cortiça.
Bondurant se deteve à porta e conferiu o corredor para certificar-se de que não havia ninguém passando. Poucos membros da equipe tinham acesso à ala do conselho, mas alguns eram questionadores além da conta. Starlene Rogers era uma. Sempre perguntava por que as crianças eram tiradas da terapia de grupo para o tratamento individual.
— Estou só sendo cauteloso, doutor — explicou-se Bondurant. — Foi por isso que você me contratou.
Kracowski fez um movimento de tesoura com dois dos dedos. — E não se esqueça de que as asinhas podem ser cortadas.
Bondurant olhou para o homem mais jovem, esperando dissimular sua aversão. Kracowski era um filantropo, mas sua filantropia terminava na hora de dar o dinheiro. Ele raramente falava do trabalho espiritual do Abrigo Wendover, de colocar as crianças no caminho de Deus.
Bondurant suspeitava que Kracowski era católico ou — Deus o livrasse — judeu. Sem o apoio de Kracowski, porém, o Abrigo Wendover teria esmorecido anos atrás e as crianças estariam espalhadas por diversas instituições e suas oportunidades de salvação, ofuscadas. Os novos apoiadores do doutor deixaram os livros-razão um pouco mais gordinhos.
As pálpebras da garota tremularam e ela virou a cabeça para trás e para frente. Um murmuriozinho escapou-lhe dos lábios. Ela tentou sentar-se e Kracowski assentiu com a cabeça. Os olhos dela se abriram num estalo. Ela parecia assustada e confusa, como um animal capturado.
— Está tudo bem, Cynthia — acalmou Kracowski. — Você está a salvo agora. Não deixaremos eles te machucarem.
Bondurant ficou imaginando quem eram eles.
Cynthia olhou as paredes nuas e acolchoadas como se esperasse que fechassem sobre ela. Ela tremia sob a coberta, ainda que a sala estivesse aquecida. Bondurant achou ter ouvido passos; conferiu o corredor e viu que estava vazio.
— Pra onde eles foram? — perguntou a garota com uma voz vacilante.
— Embora — respondeu Kracowski. — Para bem longe.
— Eles vão voltar?
— Não — respondeu o médico. — Por enquanto, não.
Bondurant tentou lembrar-se melhor da menina. Cynthia. Cynthia Sidebottom. Como não era parte de sua missão, Bondurant não era bom em detalhes. Essa criança, no entanto, era uma das mais perdidas, perturbada mesmo, uma pecadora impenitente. Os arquivos dela relatavam transtorno depressivo, mas sua detenção por prostituição tinha mais significado para Bondurant que as análises feitas no ramo da psiquiatria. Ela claramente estava fadada ao inferno.
Cynthia se sentou e esfregou a cabeça como se a estivesse limpando de um fragmento de sonho. Inclinou-se para frente, bamboleando as pernas sobre os degraus em frente ao leito. — Cadê a sapatão?
— Você diz, a Dra. Swenson? — perguntou Kracowski.
— É, pode ser.
— A Dra. Swenson quer lhe ajudar. Todos queremos lhe ajudar.
Cynthia fitou as paredes de novo. Por uns instantes, ninguém falou e Bondurant ouviu a campainha na ala oposta. As crianças estariam de volta ao alojamento para socializar um pouco antes do jantar.
— Se você quer me ajudar, me arranja um servicinho de cinquenta dólares pra eu voltar de ônibus pra Charlotte. — Ela molhava os lábios num gesto obsceno. Bondurant fingiu ignorá-la, sabendo que ela só estava tentando chocá-los.
Os punhos de Kracowski se cerraram; em seguida, ele sorriu e pousou uma das mãos sobre o ombro dela. — Cynthia, você está resistindo. Você sabe que isso não é correto.
— Igual a você bancando o padre — retrucou. — Por que é que você não usa aquele palavreado dos outros médicos, fala comigo um pouco e me deixa ir embora?
Kracowski se ajoelhou diante dela, dobrando o corpo como o de um pássaro adormecido. — Porque eu sou o médico que quer curar você.
— E se eu não estiver doente?
Kracowski inclinou o rosto, aproximando-o do rosto dela, e sussurrou alguma coisa que Bondurant não conseguiu ouvir. A garota ficou pálida e lançou um olhar turbulento para as paredes.
— Não deixa eles me pegarem — disse ela. — Doutor, você tem que me ajudar.
Os lábios de Kracowski estamparam-se num sorriso, uma gesto doente que parecia atirar-lhe o restante do rosto às sombras. — É por isso que eu estou aqui, Cynthia: para ajudar.
Ele virou-se para Bondurant e disse: — Acho que é hora de a Cynthia voltar para o quarto dela. Vamos acompanhar as condições dela nas próximas horas, mas acho que ela está bem.
Bondurant aguardou ansioso enquanto Kracowski fazia anotações numa prancheta. Cynthia se levantou da cama e Bondurant segurou seu braço para ajudá-la a se firmar. À medida que a manta escorregava para fora, Bondurant observou com satisfação que a garota estava totalmente vestida. Não que ele suspeitasse que Kracowski a sondaria em pecados tão repugnantes, mas coisas estranhas aconteciam naquela sala e algumas delas poderiam resvalar sua influência maligna sobre o próprio Bondurant.
Kracowski avisou: — Lembre-se, Cynthia, os tratamentos não farão efeito se você conversar com os outros sobre eles. Isso fica só entre mim você e a Dra. Swenson. Está claro?
A garota assentiu com a cabeça, enquanto suas bochechas recuperavam a cor. — Tá. Tipo um segredo. Eu sou boa pra guardar segredo.
— Foi o que eu descobri. — Kracowski apertou os ombros dela levemente. — Você está se saindo bem.
— Eu vou nascer qualquer dia desses — disse a menina antes de olhar de esguelha um dos cantos da sala. — Se eles deixarem.
Bondurant não entendia o estranho relacionamento que Kracowski tinha com as crianças. Ele não tinha certeza da finalidade dessa linguagem cifrada usada nos tratamentos e com certeza não queria saber muito sobre isso. O médico, contudo, insistia que Bondurant visse com os próprios olhos, talvez como uma punição especial, mas é provável que quisesse ter certeza de que Bondurant estivesse a par do que estava em jogo.
Se algum agente do estado chegasse para xeretar, o trabalho de Bondurant era mostrar o rosto benevolente de Wendover. Quanto ao que se passava em meio às sombras do antigo edifício, isso ficava para o julgamento de Deus. Bondurant certamente não estava em posição de julgar, não com um salário de seis dígitos e num lugar de respeito na comunidade em questão.
Ele conduziu Cynthia pelo corredor até a ala oposta. Passaram pela Starlene próximo à interseção dos corredores na entrada principal.
— Olá, Cynthia — cumprimentou Starlene, lançando um olhar interrogativo para Bondurant.
— Oi — respondeu a garota meio taciturna, como se o tratamento e a quase-morte a tivessem deixado fraca demais para seus comentários mordazes.
— Cynthia hoje teve aula particular — disse Bondurant. — Ela vai ser uma das nossas alunas brilhantes.
— Faltando aula? — retrucou Starlene.
Bondurant se esquivou do olhar da mulher. Ela não conseguia ler a mente. Era uma abelha operária, uma das conselheiras, nada com que se preocupar. Ela não tinha trabalhado em Wendover tempo o bastante para aprender a não fazer perguntas. Além do mais, se ela estivesse curiosa demais, era uma simples questão de escarafunchar o histórico dela e encontrar uma desculpa para despedi-la. Se as coisas chegassem a esse ponto, poderiam surgir acusações e alegações sobre ela.
— O Dr. Kracowski é um especialista em diversos campos, Srta. Rogers — desviou Bondurant. — Doutor em ciências naturais, educação e psicologia com ênfase em desenvolvimento da criança e ciência comportamental. E não é só isso: ele concluiu seu currículo de residência no Johns Hopkins. Acho que, de todo mundo, ele é qualificado para tomar decisões acerca do melhor interesse da criança. Não é verdade, Cynthia?
A garota acenou com a cabeça, olhando para o fundo do corredor escuro que levava ao Salão Verde, onde dormiam as meninas.
Starlene reparou na menina: — Você parece estar doente. Está se sentindo bem?
Bondurant bufava. A conselheira praticamente o ignorou, mostrando desconsideração por sua autoridade.
— Eu estou bem — respondeu Cynthia. — Disseram que eles iam me deixar em paz.
Starlene aparou com a mão o queixo da garota e a olhou no fundo dos olhos. — Se você tiver qualquer problema, de verdade, fale comigo, está bem?
Um pequeno alto-falante instalado na parede deu um clique e, depois de alguns segundos sibilando, reproduziu a voz da Sra. Walter: “Starlene Rogers, por favor compareça ao Chalé do Lago”.
— Lembre-se do que eu disse. — Starlene caminhou em passos rápidos até a porta dos fundos emitindo um eco das sandálias pelas paredes ripadas. Bondurant não resistiu observá-la furioso. Apesar de seus modos caridosos, ela não estava observando sua posição na hierarquia. Bondurant teria de conversar com Kracowski sobre ela.
O estômago de Bondurant se contorcia. Starlene estava além do alcance de sua raiva, até o momento, pelo menos. A garota, contudo, estava disponível e sua memória de curto prazo estava embaralhada.
— Venha — chamou, puxando-a pelo braço até seu escritório. — Eu tenho uma papelada para dar uma olhada.
As palmas das mãos de Bondurant suavam de ansiedade para pegar a “Outra Face” e conceder a salvação a mais uma criança.
CAPÍTULO 5
— Psiu. Ei, Fraldinha, e aí? Tá cocô?
Freeman olhou para o garoto que lhe falou. O adolescente tinha uma cara larga e forte e um cabelo cortado reco. Os olhos eram pequenos e suínos, com aquele brilho meio cruel que Freeman vira em dezenas de rostos nos abrigos estaduais pelos quais passou. O olhar porcino estava fixo num garoto magro, pálido, que parecia ter uns dez anos.
— Eu não fiz nada, Deke — disse o garoto numa reação tão imediata e ensaiada que Freeman percebeu claramente que o garoto já sofrera antes na mão do Deke.
— Claro, Fraldinha. Melhor ir se trocar, senão nós vamos chamar a enfermeira pra ver isso aí. — Derek deu à palavra “enfermeira” um tom afeminado de gozação. — Você não quer que ela te pegue fedendo, quer?
Depois que os garotos chegaram ao Salão Azul, Freeman calou-se. Ficara sentado em seu catre, fingindo não se importar com os outros meninos. Um dos rapazinhos perscrutou-lhe com aquele olhar de veterano para novato, outro começou a lhe acenar, mas Freeman voltou-se para o livro que surrupiara do escritório do Bondurant. O livro era um capa dura bem chato, daqueles bem motivacionais e inspiradores que ficavam dizendo como prosperar com a ajuda do Senhor. Com o livro nas mãos, contudo, conseguia observar o salão de esguelha enquanto tentava avaliar quem mandava no galinheiro. Deke parecia ser o galo que cantava ali.
Ele começou a dançar em volta do garoto magrinho, numa coreografia como se o estivesse limpando com papel higiênico. Alguns dos garotos ficaram observando e Deke deu uma de durão para os expectadores. — Que isso, Fraldinha! Para de fazer nas calças.
A risadaria correu solta no salão. O garoto que tentou acenar para o Freeman estava roendo a unha do dedão, olhando nervoso para a porta. Freeman se perguntava onde estariam os supervisores. Ele já estivera em abrigos suficientes para saber que as crianças nunca deveriam ficar sem supervisão, embora isso fosse bastante frequente.
O Fraldinha bateu em retirada, passando pela cama do Freeman. Perseguindo seu alvo, Deke sorria maliciosamente para Freeman e disse: — Olha como eu tiro uma com a cara dele.
Freeman rapidamente voltou a prestar atenção no livro, buscando qualquer inspiração insossa. Ele sentiu pena do Fraldinha, mas achava melhor manter-se à margem por enquanto. Talvez Deke tivesse inimigos entre os garotos, mas as apostas eram de que Deke mandava no galinheiro sem oposição. Além disso, os que se mostravam defensores dos fracos e oprimidos acabavam não sobrevivendo.
Um garoto alto de casaco militar verde-oliva, que tinha toda característica facial de ter uns quinze anos, seguiu Deke como um segundo-tenente. O Fraldinha chegou ao canto da parede acovardado, enquanto os dois moleques mais velhos o socavam e zombavam dele. — Fralda suja, fralda suja — dizia Deke; seus gestos de provocação conseguiam ser mais obscenos que a musiquinha.
Outros dois garotos se juntaram atrás de Deke e faziam sons de gás vazando. Três garotos estavam quietos, sentados em suas camas. Pela expressão de alívio no rosto deles, Freeman percebeu que eles estavam aliviados porque a vítima era o Fraldinha e não eles. Freeman então cometeu o erro de olhar o Fraldinha nos olhos.
Ajude-me, imploravam aqueles olhinhos pretos.
Deke estava desabotoando as calças do Fraldinha e agachando como se fosse deixá-lo de bunda de fora. Os lábios do menino tremiam enquanto seu olhar passava pelos algozes até cruzar com o de Freeman. O lugar ficou com um cheiro de suor e nervosismo como numa jaula. Freeman apertava tanto o livro contra o colo que as páginas chegavam a se enrugar. Ele preferia ser um soldado mais esperto e ficar de cabeça baixa. Jogue em todos os times enquanto avalia a situação. Como Eastwood em Três homens em conflito.
O Fraldinha era pequeno e fraco, não era justo. Mas quem disse que a vida era justa? Se fosse, lugares como esse não existiriam. Se fosse, Freeman teria um pai diferente e sua mãe ainda estaria viva. Se fosse, Freeman se sentiria vivo por inteiro e não, talvez, pela metade.
— Psst. Ei, novato — sussurrou o moleque a dois catres dele. Ele era um dos três que não participavam do escárnio. Os olhos do garoto eram de um verde estranho que Freeman nunca vira, como um musgo doente.
A maioria dos garotos se amontoavam em torno de Deke e impediam Freeman de ver os novos insultos que Deke inventava. Pelo volume de risadas, devem ter sido muito bons. Freeman decidiu que poderia arriscar a responder sem chamar atenção.
— O quê? — Remoeu pelo canto da boca, ao estilo Eastwood, como se estivesse irritado por terem lhe tirado a atenção da leitura.
— Você vai ajudar?
Os outros dois garotos ficaram olhando de seus catres, esperando a resposta. Freeman fechou o livro. — Você vai?
No final do dormitório, o Fraldinha começou a chorar e Deke ficou imitando o soluçar do menino. O jovem de cara penugenta com casaco do exército também se juntou a Deke. Outros tantos também assomaram seus grunhidos ao coro.
O garoto que falara com Freeman se deitou no catre e ficou olhando para o teto.
Que se dane.
Freeman se levantou e largou o livro pesado, que foi ao chão de chapa contra o piso, fazendo o som de um tiro. A turba em torno do Fraldinha se calou, esperando a reação do Deke.
Lá vem.
Freeman sentia os olhares analíticos dos outros garotos. Ele já estivera do lado oposto muitas vezes, sacando um recém-chegado, avaliando como a presença de um novato afetaria a dinâmica do grupo. Ele já tinha estragado a chance de se camuflar no ambiente. O melhor a fazer seria, então, canalizar o velho Clint à la faroeste italiano e colocar uma capa de couro cru para sua atuação.
— Quem é o piroca das ideias? — perguntou Deke para os presentes. Será que Deke sabia o que era “pergunta retórica”?
Fraldinha, agora esquecido, esboçou uma expressão de gratidão enquanto se retirava furtivamente para seu catre. Freeman bocejou, abaixou-se lentamente e pegou o livro do chão. — Desculpa, caiu o meu livro.
Deke cruzou o dormitório como um raio, com o marmanjo de casaco militar seguindo-o como uma sombra. A turba que se amontoara em torno do Fraldinha agora estava atrás do Deke, cercando o catre do Freeman.
Freeman segurou o livro para que Deke conseguisse vê-lo. Com a testa franzida e o nariz contraído, Deke tomou o livro e tentou ler o título. Finalmente, ele desistiu e jogou o livro ao chão, depois o chutou-o, fazendo-o deslizar pelo chão como uma bola de hóquei retangular.
— Livro escroto — difamou Deke.
— Concordo — disse Freeman. — É pura enganação.
Eles se olharam; o silêncio substituiu as provocações que preencheram a sala minutos atrás.
— De onde você é? — perguntou Deke.
— Durham.
— O Conselho Tutelar te mandou pra cá?
Ser encaminhado pelo conselho tutelar dava uma moral extra entre os valentões juvenis, mas Freeman seguira um caminho diferente no sistema. Não que ele se importasse em mentir para o Deke, mas não queria ser recrutado para o pelotão do Deke, a menos que fosse necessário para a sua sobrevivência.
— Não, nunca me pegaram — respondeu Freeman o mais friamente que pôde, embora suas axilas estivessem molhadas e o coração disparado como o tambor de um macaquinho de corda.
Alguém chutou o livro de volta para o Derek, que o pegou do chão. — Qual o seu nome?
— Theodore Roosevelt.
O adolescente de casaco do exército deu um risinho abafado. Deke não mudou sua expressão facial. — Que nome frutinha é esse?
— É o apelido de Teddy — disse o Casaco Verde.
— Ursinho Teddy — disse o Deke sorrindo com os lábios roliços. — Um nome frutinha pra um garoto frutinha que lê livro frutinha.
— Não, mané, Roosevelt é o nome de um presidente — alguém do grupo falou.
Deke coçou hesitante o cabelinho reco. — Então, Teddy, você deve ter notado: essa merda de lugar não é Durham.
— Não me diga. Jura mesmo? — lançou Freeman.
— Juro, cara, essa merda de lugar não é Durham — disse o Casaco Militar. Alguns garotos riram. Deke cutucou o Casaco Verde nas costelas como punição por ter-lhe tirado o holofote. O lugar ficou num silêncio retumbante.
Deke pegou o livro. — Como é que você está lendo esse livro idiota e nem está assistindo aula ainda?
— Eu roubei. Do escritório do Bondurant.
— Mentira.
Freeman deu de ombros como se não desse a mínima para o crédito ou o descrédito de Deke. No fundo, esperava que a indiferença fosse vista como valentia e não como arrogância. Deke era um peso-pesado: entre ele e Freeman havia uns vinte quilos. Freeman podia até ganhar em agilidade, mas não queria um embate logo no primeiro dia.
— Por que você não lê um trecho? — desafiou Freeman. — Vê se não é a cara do Bondurant.
Deke abriu o livro, a testa se levantava como se lutasse com as palavras. Freeman lançou um olhar furtivo para o garoto com os olhos verde-estranho. O garoto lhe respondeu com uma piscadinha discreta. O Fraldinha se sentou num catre na frente do dormitório, perto da porta, observando como os outros.
O Casaco Verde empurrou o braço do Deke, fazendo-o derrubar o livro no chão.
— Por que é que você tá fazendo isso, miolo-mole? — questionou Deke, embora Freeman tenha notado um tom de alívio na voz do valentão.
— Você leu a parada, vai virar frutinha também — respondeu o Casaco Verde.
Depois de um momento, Deke disse: — Você tá certo — e chutou o livro pelo chão de novo, que bateu na perna de um dos catres e escorregou até os pés de um garoto ruivo.
O ruivo deu outro chute no livro, que foi rodando até o Casaco Verde. O adolescente meteu-lhe o pé e o atirou para outro garoto. O ajuntamento se dispersou um pouco e os meninos ficaram chutando o livro para lá e para cá e se regozijavam a cada golpe mais violento.
Freeman cruzou as pernas como um Buda e se sentou no catre. Ele fatalmente enfrentaria o Deke, mas ao menos criara uma distração no momento, assim teria a oportunidade de descobrir os pontos altos e baixos de Wendover antes do inevitável embate. Não que ele tivesse outra coisa com que ocupar o tempo, além de se esquivar das perguntas curiosas dos conselheiros, os olhos e ouvidos da Fundação, e tentar não transparecer seus pensamentos
— e manter longe os pensamentos alheios.
As palavras inspiradoras de Bondurant ainda estavam levando rasteira quando os supervisores finalmente chegaram.
CAPÍTULO 6
Starlene se sentou nas pedras planas e cinzentas que se projetavam do chão perto do lago. A água exalava um cheiro de musgo e peixe, distorcendo o reflexo das árvores altas. Uma folha caiu em sua morte setembrina, ondulando o lago a partir de onde tocou a água azul-prateada. Starlene achava que as folhas eram como anjos, ainda que ignorasse como as folhas ascendiam aos céus depois de terem caído. Um anjo não afundaria e se afogaria para apodrecer na lama do fundo do lago.
Os moleques tinham um intervalo curto entre as aulas e o jantar. Eles podiam ficar pelo campo na companhia de seus supervisores e logo ficavam espalhados pelo gramado, rindo, correndo uns atrás dos outros, quase sem lembrar que o mundo deles era murado. Por um momento, no entanto, ela tinha os campos só para ela.
Starlene olhou para os fundos do Abrigo Wendover, nas pedras frias que sempre estavam na sombra. Atrás das janelas estavam coraçõezinhos que cresciam tão frios e duros quanto as paredes que os mantinham presos. Crianças da sociedade. Os perturbados e indesejados. Starlene abraçou os joelhos contra o peito. Deus sempre dá o frio conforme o cobertor: ela sabia que havia um motivo para estar lá.
Pelo menos os funcionários pareciam se preocupar com as crianças. Ela tinha ouvido histórias horrorosas dos gloriosos dias quando os orfanatos eram algo mais que fazendas para jovens. Embora ela estivesse em Wendover por apenas três meses, recém-saída da graduação de ciências sociais na Universidade Estadual dos Apalaches, ela se dava bem com os outros conselheiros e supervisores, especialmente Randy. Francis Bondurant ainda era um mistério, com algo escorregadio que ia além do sorriso, mas sua reputação era sólida com os que tinham por meta Fazer a Diferença. O Dr. Kracowski era igualmente indefinido, estranhamente dedicando horas em sessões particulares nas horas em que os jovens internos deveriam estar em aula. Sem Bondurant e Kracowski, no entando, ela não conseguia imaginar um empreendimento tão difícil quanto Wendover tinha conseguido ser até então. Era melhor render-lhes orações que suspeitas.
Starlene tirou uma barra de cereais do bolso e tirou-a da embalagem. Ela orou rapidamente em agradecimento e deu uma mordida. Ela estava prestes a dar a próxima, para convencer a si mesma de que a aveia seca e adocicada era saborosa e não era comida de cavalo, quando viu um vulto lá do outro lado do lago. O vulto estava parado na beira do lago, a uns 60 metros de distância, quase obscurecido pelos galhos de um chorão.
Devia ser um dos jardineiros.
Ela acenou. A pessoa não respondeu. Olhando mais atentamente, a pessoa parecia estar usando uma espécie de camisolão cinza — que roupa estranha para um jardineiro. Outra: será que os jardineiros ainda estaria lá no final da tarde?
Starlene apertou os olhos contra o reflexo do sol na água. O vento começou a bater de leve e os ramos do salgueiro sibilavam em torno do vulto sombrio. Ela acenou de novo — um primeiro desconforto tremulava em torno dos cereais no estômago. O que é que o manual dizia sobre denunciar pessoas não autorizadas?
A parte de trás da propriedade margeava algumas fazendas cujos campos davam acesso aos aclives montanhosos recobertos pelos retalhos do outono. Uma cerca circunscrevia o gramado de Wendover, mas um adulto a poderia escalar sem maiores dificuldades. Um pescador ousado da região deve ter chegado lá para tentar pegar uma perca, mas seria muito estranho lançar uma linha entre tantos galhos. Ela não era tão ingênua a ponto de pensar que os clientes nunca tentavam se esgueirar em tentativas de fuga, mas quem estaria furtivamente entrando num lugar tão imponente quanto Wendover?
Ela se levantou e fez sombra com a mão. O vulto se aproximava da beira d’água. Ela não estava vendo nenhuma vara de pesca e não tinha certeza se seria um jardineiro. Era um velho, o sol reluzia na sua careca pálida. A briza que patinava sobre o lago fazia franzir a túnica do velho. Starlene se lembrou de um filme bíblico em que João Batista servia a Deus perto das águas.
O homem hesitou por um momento, olhando para o abrigo por cima do lago. Quiser Starlene ter levado seu rádio consigo, mas ela tinha aprendido a valorizar seus momentos de privacidade. Ela considerou chamá-lo ou gritar pedindo ajuda, mas havia algo no jeito esquisito do velho que a manteve em silêncio. Ela agachou perto da pedra em que estava.
Com certeza o velho a vira, mas não se alterou. Em vez disso, ele deu um passo para dentro do lago. Outro passo e ele já estava dentro d’água até os joelhos. A água devia estar a uns cinco graus, mas o homem não hesitou. Quando já estava até a cintura, Starlene ouviu um alarme soar na cabeça, o mesmo alarme que a alertou quando um interno estava prestes a ter um acesso ou cair numa depressão suicida.
Starlene pulou detrás da pedra e começou a caminhar preocupada em volta do lago. Ela começou a correr de verdade quando a água chegou até os ombros do homem.
— Ei! — gritou ela. Ela deu uma corrida até uma trilha que a levou até uma clareira com pinhos-brancos. A luz do sol salpicava seu rosto enquanto ela forçava o ar para dentro dos pulmões, levantando alto os joelhos e ritmando os pés contra a terra compacta.
Bem na hora que ela saiu do conjunto de árvores, o homem desapareceu. Ela gritou de novo enquanto arfava até alcançar o chorão.
Não havia uma ruga sequer na superfície sob a qual o homem desaparecera. Starlene se ajoelhou à beira d’água, olhando atentamente as águas escuras. Certamente algum ar escaparia dos pulmões do velho, trazendo bolhas até a superfície. A água ao longo da margem deveria estar enlameada pelas pegadas do homem, mas o leito de sedimentos estava intacto como uma cutícula esverdeada.
Starlene deu mais uma olhada para o abrigo. As paredes sombrias não mandaram nenhuma ajuda. Que Jesus faria se tivesse que salvar um homem do afogamento? Uma pergunta mais imediata: o que ela faria?
Ela tirou o blazer e o atirou próximo à margem. Despindo-se das sandálias, tomou fôlego e precipitou-se na água, rezando para que o homem e ela não se encontrassem numa cabeçada.
A onda de frio a arrebatou, fazendo-a engolir um bom tanto d’água. Abriu os olhos num universo atordoante de centelhas prateadas.
Forçou-se para o fundo esperneando-se n’água, lutando contra a flutuabilidade natural causada pelo ar dos pulmões. Auxiliada pelo peso das roupas molhadas, tocou o fundo e virou-se.
A julgar pela pressão nos ouvidos, ela provavelmente estava a quase quatro metros de profundidade. A água ali era mais escura e azul, com partículas soltas de algas em volta dela, remexidas pelo mergulho. Starlene deu impulso com os braços e girou num círculo.
Nenhum sinal do homem.
Fez as mãos em concha e deslizou sobre o fundo. Acima dela, a tíbia claridade do sol aparecia na superfície, criando a ilusão de que o céu também era água.
Os pulmões queimavam com o ar preso. Nada de homem, só lama. A água fria lhe afligia os olhos. Por fim, ela foi buscar o ar fresco que a aguardava acima.
Irrompendo a superfície, foi recebida com um grito. Ela jogou o cabelo para tirá-lo do rosto e abriu caminho pela água, tentando orientar-se. Outro grito — a direção de onde vinha ficou mascarada pela planura das águas do lago. Em seguida, ela viu correndo em direção ao chorão Randy e o vulto abespinhada e desajeitado de Bondurant.
— Você está bem? — gritou Randy.
Starlene assentiu com a cabeça, tomou fôlego e mergulhou de novo. Dessa vez ela ficou no raso, perscrutando a água lúgubre. O homem se fora — se é que lá estivera.
No momento em que ela se levantou para o próximo fôlego, Randy tirou a camisa e foi até a beira do lago. Entrou n’água com os olhos arregalados por causa do choque com o frio. Starlene respondeu com um aceno. Depois de esperar para ver se ela estava firme para voltar à margem, ele subiu a ribanceira e pegou a camisa dele e o blazer dela.
Bondurant chegou lá no momento em que Starlene estava pingando e tremendo já em terra firme. Randy deu a ela sua camisa para usar como toalha. Os mamilos dela rígidos por causa do frio e ele olhou para o outro lado.
— Que está acontecendo? — perguntou Bondurant, deslocando o olhar dos seios dela para o ponto na água de onde ela emergiu.
— Um... homem — disse ela, lutando para encher os pulmões. — Ele estava debaixo da árvore, aí foi andando para a água.
— Um homem? — perguntou Bondurant.
— Vestido com um camisolão cinza. Parecia um camisolão de hospital. Eu não o reconheci e achei que não trabalhasse aqui. Eu gritei, mas ele sequer olhou para mim; veio entrando no lago até desaparecer.
— Isso faz quanto tempo? — perguntou Randy.
— No máximo quatro ou cinco minutos.
— Nem Houdini conseguiria segurar o fôlego tanto tempo. — Randy entrou na água até os joelhos, depois aparou o sol nos olhos com uma das mãos. — Não estou vendo bolhas.
— Acho que precisamos chamar a polícia ou o esquadrão de resgate.
Bondurant empurrou os óculos para cima do nariz. — Então era um homem, que simplesmente desapareceu nas águas.
— É, foi.
— A senhorita espera que nós acreditemos que um homem voluntariamente teria entrado nessa água quase em ponto de congelamento?
— Haveria outro motivo para eu me atirar no lago?
— O sol batendo na água pode causar miragens — supôs Randy. — Acontece muito de verem coisas por aqui. Conversando com as crianças a gente fica sabendo.
— Eu sei o que eu vi.
Ela se apertou sob o calor do blazer enquanto Randy voltava para a margem. Bondurant levantou a sobrancelha para Randy, que balançou a cabeça.
— Esse trabalho é muito estressante — disse Bondurant. — Uma pessoa com sua pouca experiência deve passar por um período de adaptação. As aplicações práticas ensinadas em sala de aula são diferentes do que vemos acontecer aí dentro dessas paredes. — Deu uma pausa, e acrescentou: — No mundo real.
Starlene olhou fixamente a tranquila extensão de água. Ela esperava um corpo vestido de cinza boiar até a superfície em algum momento.
— Não comentaremos nada sobre isso. — Bondurant se virou e voltou em direção a Wendover.
— Eu não sou louca — afirmou ela.
Randy olhou o lago.
— Eu não sou louca — repetiu.
— Vamos embora — disse Randy, pegando dela sua camisa. — Melhor ir se trocar antes de morrer congelada.
Enquanto ladeavam as pedras já saindo da margem, Starlene olhou de novo o chorão. Os braços e pernas dela estavam pesados, mais pesados que as roupas molhadas. Não podia ser só imaginação, pensava. Ou podia?
Randy passou o braço em torno dela. Ela se deixou inclinar contra ele, seus músculos bronzeados e o peito cabeludo.
— Eu não estou inventando — disse ela.
— Você ouviu o Bondurant — disse-lhe Randy. — Não diga nada sobre isso.
— Puxa-vida, você também não acredita em mim, não é?
Randy não respondeu.
E ela pensara que ele a compreendia, que eles estavam compartilhavam o começo de uma confiança crescente. — Randy?
Ele a encarou e pousou as mãos sobre os ombros dela. — Wendover é assim: não faça perguntas. Quanto mais cedo você aprender isso, melhor pra você.
Ela o olhou em seus olhos azul-claros. — Como assim?
— Pra mim isso foi uma pergunta. — Ele se virou e foi andando pelo caminho à frente dela.
Ela deu uma última olhada ao lago, sentiu um calafrio e o seguiu.
CAPÍTULO 7
Quase não era possível reconhecer o jantar como comida, mesmo que fosse servido nas mesmas bandejas de fibra de vidro bege que todos os grupos do abrigo usavam. O bege sempre sangrava sobre a carne e o molho, emudecia as cores e fazia tudo ficar insosso. É, podia ser pior. Podia ser rosa-peptobismol.
O refeitório era pequeno, mas Freeman conseguiu para si uma mesa de canto. O Fraldinha chegava da fila com sua bandeja e por um momento cruzou o olhar com o de Freeman. Freeman olhou para outro lado evitando incitar qualquer ato de gratidão.
Continue andando. Circulando, nada para ver aqui.
Freeman decididamente não estava a fim de fazer amizades. O lance com o Deke e o livro foi um complexo ato de autopreservação. Ele não estava lá para servir de defensor dos fracos e oprimidos. Isso era com os heróis de histórias em quadrinhos e Harry Callahan em Perseguidor implacável. Sua tarefa era sobreviver ao máximo até descobrir como sair daquele lugar, de preferência ileso.
Um dos supervisores do Freeman se sentou a umas duas cadeiras de distância. Randy. Ele tinha aquele ar durão, calejado, o tipo de cara que provavelmente era polido com as mulheres até elas descobrirem que o QI dele era igual ao número estampado na camisa com que ele jogava futebol no colégio.
Freeman se concentrava no purê de batata. Em pó. Por que é que tudo no mundo tinha que ser em pó? Não era porque batata era caro. Talvez porque os nutricionistas queriam evitar as manchinhas pretas. Não dava para ter batatas com manchas quando o objetivo era formar pessoas perfeitas.
Randy se inclinou na direção dele. — E aí, Freeman, o que está achando de Wendover?
A massa informe de batata era pequena demais para servir de esconderijo. Randy mostrou os dentes, que pelo jeito podiam ser usados para morder a própria perna se quisesse escapar de alguma armadilha. Uma amabilidade que podia matar, se necessário.
— É legal. — Freeman garfou um bolo da carne processada e o meteu na boca como desculpa para não falar mais.
— Você vai gostar daqui. A gente tem um monte de histórias de sucesso.
E eu tenho certeza de que você vai me contar alguma.
Freeman, porém, estava equivocado. O garfo do Randy subia e descia com firmeza, como se estivesse extraindo ferro, compactando a comida bege e trabalhando o bíceps ao mesmo tempo. Freeman perscrutou o refeitório.
Bondurant, pelo jeito, não estava por ali. O lugar não suscitava surpresas. O diretor da prisão não pode comer com os detentos nem com os guardas. Muitos dos conselheiros se sentavam numa mesona. Não havia lugares vagos e Freeman ficou pensando se Randy fora forçado a se sentar junto a ele. O palitinho mais curto pega o perdedor.
Na mesa próxima, um grupo de garotas entrechocava bandejas e risadinhas. Todas, exceto a menina que se sentava à cabeceira da mesa. A pele dela era quase tão pálida quanto o louro platinado dos seus cabelos. Olhos pretos, grandes e úmidos olhavam fixamente o prato diante dela. Ela não tocou na comida.
De repente, ela olhou para cima, diretamente para o Freeman. Uma imagem se projetou em sua mente, uma única palavra: Fundação.
Ele engoliu a seco, mandando a carne insossa e mal mastigada direto para o encanamento interior.
Que estranho. Eu nem estava tentando fazer triptrap com ela.
Mas ela já estava olhando para o prato dela de novo. Freeman aproveitou a oportunidade para estudar o rosto dela. Mesmo com aquela aparência de garota doente, com olheiras grossas, ela era bonita. Pensar na beleza de uma garota, sim, era meio esquisito. A beleza deixava seu coração leve e seus pulmões hirtos, como se não conseguisse colocar o ar para dentro do corpo. A beleza assustava pra caramba. Por sorte, a beleza sempre tinha ficado a uma distância segura. Bogart em Casablanca, no lugar errado, na hora errada, essas coisas.
Ele, porém, reconhecia a tristeza sufocante nos olhos dela. Ele já vira muito dela no espelho. Talvez ela não tivesse aprendido ainda como desligá-la, enterrá-la. Mas chega de saber tanto. Ele não queria ser pego de novo encarando alguém e decididamente não queria perder tempo tentando ler a mente dela quando não estivesse nem tentando fazê-lo.
No outro lado do refeitório, Deke estava usando a colher como catapulta, atirando feijões nuns pirralhos. Que brincadeira velha. Talvez Deke estivesse ali havia tanto tempo que estivesse desatualizado, por fora das técnicas de intimidação de última geração.
Starlene, a conselheira que o levara até o Salão Azul quando ele chegou, adentrou o refeitório. Ela estava com uma toalha em volta do pescoço e com os cabelos molhados. Ela estava com um moletom vermelho, parecendo uma meia de Natal grandona. Freeman imaginou se ali tinha aparelhos de ginástica e se ela estivera se exercitando.
Ela pegou uma salada e um copo de café e caminhou em direção ao Freeman. Muita ação para um isolamento tão eficiente.
— Está se sentindo melhor? — perguntou-lhe Randy enquanto ela se sentava entre ele e Freeman.
— Não.
Randy acenou para a salada dela com o garfo. — Não estava a fim de peixe? Estou surpreso.
— Só como peixe que eu mesma pesco. Se estiverem como você, acima do tamanho, eu devolvo pra água.
Foi quando Freeman percebeu. Srta. Adidas e Sr. Músculos. O casal 20 do esporte, uma dupla dinâmica dos aparelhos de musculação. Com certeza eles tinham bandanas personalizadas no ninho de amor do condomínio.
Freeman se concentrava no flã de caramelo, que combinava perfeitamente com a bandeja bege — era o primeiro flã do mundo que podia servir de massa corrida. Ele conseguia até imaginar Deke usando o doce para pregar peças no Fraldinha.
— Não tô nem aí para o que você e o Dr. Bondurant estão pensando: eu sei o que eu vi — disse Starlene para Randy.
— A gente pode falar sobre isso outra hora.
Conversa de adulto. Freeman tentava manter a invisibilidade. Starlene percebeu o desconforto dele e explicou-se: — Desculpe, minha tarde não está sendo das melhores. Até os adultos passam por isso de vez em quando.
— Só que eles não precisam se desculpar. — Freeman se arrependeu imediatamente de tê-la retrucado. Não dava para entrar e sair do modo Clint Eastwood assim, num piscar de olhos. Você tinha que ficar no personagem. Diferente do Kevin Costner em praticamente tudo.
— Eu me desculpei, Freeman.
Ele tentou fazer triptrap nela só de sacanagem. A única coisa que conseguiu foi zumbido no ouvido e um fio desencapado cortando-lhe a cabeça. Ele também pode ter macetado a testa contra uma das paredes cinzentas do refeitório. Algumas pessoas eram assim, escudos naturais e, mesmo com as que ele conseguia ler, não havia como controlar o resultado de tais leituras. Às vezes vinha alguma coisa que a pessoa tinha visto na TV na noite anterior ou um personagem favorito de um filme. Às vezes vinha algo sobre um parente doente ou um dinheiro e como adquirir mais dinheiro. Às vezes...
Às vezes era o tipo de coisa que fazia seu coração palpitar.
— Está tudo bem? — perguntou Starlene; Freeman piscou e trouxe a mente de volta ao refeitório.
— Acabei de ver alguém que achei que conhecia. — Ele cutucou o flã e, em seguida, olhou para a pálida menina loura. Ela o estava fitando de novo. Ela era exótica, perigosa, Faye Dunaway em Chinatown.
Claro que não está tudo bem, Rainha Starlene. Algum dia, quando você estiver mais madura, talvez eu te conte. Até lá, não haverá psicólogo que consiga entrar AQUI. Porque pessoas como você sempre têm que encontrar algo, ter alguma coisa para “consertar”, mesmo que seja para partir tudo em mais pedaços que para reuni-los. Então fica aí do SEU lado da mesa com o Dr. Raio-estrela-e-luar e eu fico sentado aqui, aí a gente vai se dar muito bem.
Só não tente entrar na minha cabeça e está tudo certo. E isso vale pra você também, ô mocinha-do-esqueleto-de-arame que não comeu nada.
A campainha soou e Randy olhou para o relógio. — Hora da recreação, soldados — gritou, alto o bastante para que todo o refeitório escutasse.
Deke saiu fazendo mímica labial de Randy, provocando risadinhas no seu pelotão de intimidação. Ouviram-se cadeiras se arrastando e talheres retinindo enquanto os jovens juntavam as bandejas. Freeman deu uma última garfada no flã e a meteu na boca. Até o gosto era bege.
Starlene sorriu para ele com uma couvinha entre os dentes. Freeman se sentiu culpado por ter tentado lê-la — ela era a única que o tratara bem até então. Talvez fosse mais útil em outro momento jogar com essa falha de caráter específica para seu proveito. As melhores vítimas eram os que estavam cegos por sua própria sinceridade.
Freeman acabou ficando atrás da loura esqueleto na fila. Ele não tinha certeza se ela diminuíra o passo só para que se encontrassem ou se fora coincidência. Os cabelos dela ficavam a meio caminho da cintura e pareciam tão macios que ficavam quase translúcidos contra sua camisa preta larga. Freeman fixou o olhar à frente, esperando que ela não se virasse para falar com ele.
Ela raspou o conteúdo do prato na lixeira. Era óbvio que ela remexera a comida, mas não comera nada.
Um dos conselheiros se aproximou — um homem de suéter gola V com bigode cuidadosamente aparado. — Como foi o jantar, Vicky?
— Bem, Allen — respondeu ela.
— Parece que hoje você estava com um apetite e tanto. — Nem uma nesga de sarcasmo.
— Estava uma delícia.
Ele deu um tapinha nos ombros dela. — Daqui a pouco a gente vai ter que tomar cuidado para você não engordar.
Allen foi embora e Vicky espanou com a mão o lugar onde ele a tocara, como se se livrasse de teias de aranha. Freeman não conseguia acreditar que ela enganara o conselheiro daquela forma. Ou ela era esperta, ou Allen era um perfeito idiota. Ou, talvez, um pouco dos dois.
Freeman colocou a bandeja na abertura apropriada. Uma esteira rolante carregou os pratos sujos para as profundezas misteriosas da sala da lavadora. A agitação da água e o zumbido das esteiras de borracha reverberavam dentro do espaço confinado. Freeman levantou a cabeça tentando ver se havia um ser humano fazendo todo o trabalho ou se era um sistema automatizado, algo digno dos Jetsons.
Ao lado de uma grande estante de copos estava o cara estranho que Freeman vira mais cedo perambulando pelo corredor. Talvez ele fosse mesmo o faxineiro, então. Não, faxineiro não: auxiliar de serviços gerais. Hoje em dia as pessoas dão uns nomes para essas funções para se sentirem mais valorizadas.
O homem pareceu não notar Freeman. Ele provavelmente via dezenas de garotos para cima e para baixo, mudando de abrigo, voltando para as famílias ou, por fim, com o sistema judiciário os levando embora. O olhar vazio do homem era, sem dúvida, um dom da evolução, um mecanismo de sobrevivência. Quanto menos se vê, menos se sabe. Quanto menos se sabe, melhor você se sai.
Parecia uma filosofia das boas.
Se a brincadeira era de ser invisível, o homem de camisolão sujo era um mestre.
Freeman largou o garfo numa bacia de água com detergente, virou-se e ficou cara a cara com Vicky.
— A propósito — disse ela — você não leu a minha mente por acidente. Eu li a sua.
Ela se retirou, juntando-se ao grupo de jovens que se reunia para ir ao pátio. As próximas palavras dela pularam para dentro da cabeça do Freeman sem nenhum recurso sonoro: Você não é o único que é especial.
CAPÍTULO 8
Esse era o lugar onde Bondurant se sentia humilhado, o único lugar de Wendover que não estava sob seus domínios. Em duas das paredes, perfilavam-se equipamentos, computadores, monitores e fios coloridos. Estantes de livros grossos recobriam uma terceira parede, textos diversos, de casos clínicos a religiões alternativas e modalidades de cura do tipo Nova Era. Um ar tênue de incredulidade permeava o lugar. O escritório do Dr. Kracowski exalava essa busca.
Bondurant olhou pelo espelho bidirecional que se interpunha entre o escritório e a Sala Treze. Kracowski afixava pequenos eletrodos adesivos num garoto de tez morena. O menino estava sentado na cama de shorts, meias e nada mais além de círculos de borracha presos ao peito e à têmpora esquerda. Bondurant puxou o fichário do garoto de seu arquivo mental.
Mario Diego Ríos. Nove anos de idade. Encontrado numa rodoviária em Raleigh, onde ficara sem comer por três dias. O pai, mecânico da empresa de ônibus, o trancara num armário de depósito sem iluminação. O pequeno Mario ainda sofria com pesadelos, mesmo depois de intensa psicoterapia e sessões de oração com Bondurant. Desde que foi abandonado, Mario não conseguia ficar em lugares fechados.
Era por isso que o garoto tremia tanto: a Treze era bem apertada. Kracowski falou alguma coisa com Mario, que foi captada por um microfone no teto. As palavras proferidas chegavam a Bondurant por meio dos altos-falantes do computador.
— Está tudo bem. Eu vou te ajudar. Mas antes você tem que fazer alguma coisa pra mim. Tudo bem? ¿Por favor? — terminou perguntando em espanhol.
O garoto assentiu com a cabeça, mantendo cerrados os lábios.
— Você vai ter que pensar sobre uma coisa.
O garoto olhou para a porta e, em seguida, para o espelho.
— No começo vai dar um pouco de medo, mas é o único jeito de te ajudar.
O rosto moreno do garoto ficou bronze pálido.
— Você confia em mim, não é, Mario?
Bondurant detestava presenciar os tratamentos. Desde o incidente em que a garota parou de respirar, Bondurant se sentiu na obrigação de ficar na cola do Kracowski. O carisma do médico era fundamental para financiar o abrigo e parte de sua pesquisa anterior fora publicada. Bondurant, porém, considerava esses métodos extremos, inadequados, pior até que as doutrinas da igreja moderna da psicoterapia.
O computador registrava os dados a partir dos sensores que cobriam o peito e a cabeça do garoto. A pulsação do menino era exibida num gráfico com uma linha tracejada correspondente a algo que tinha a ver com os eletrodos de Kracowski. Uma inserção mostrava uma imagem colorida da cavidade craniana do garoto no canto da tela. Bondurant se concentrava nos gráficos para não ter de ver a cara assustada do jovem. Campos em verde, roxo e vermelho marcavam uma imagem transversal do cérebro do garoto.
— Pense no que aconteceu — pediu-lhe Kracowski com voz baixa e suave. — Você consegue fazer isso?
Em seguida: — Ótimo.
A linha tracejada se elevou ligeiramente com o aumento da frequência cardíaca do garoto. O campo roxo na varredura cerebral ficou vermelho, indicando um aumento do fluxo sanguíneo.
Pelo microfone: — Quero que se lembre de como era lá dentro do armário do depósito.
A linha pulou, deu um pico, caiu rapidamente e pulou de novo. O vermelho do mapa colorido foi para o verde.
— Escuro — disse Kracowski. — Você sente as paredes se fechando, não sente?
A linha apresentou um padrão serrilhado, os picos quase tocavam o topo da tela do computador. O gravador de fita chiava, gravando a sessão. A impressora do computador cuspia uma versão em papel dos dados armazenados no disco rígido.
A voz de Kracowski ficou ainda mais baixa. — Você está preso, não está? Você grita e ninguém consegue ouvir.
A respiração ofegante do garoto foi capturada pelo microfone. Bondurant não conseguia mais aguentar. Ele desviou o olhar das máquinas para o espelho. Kracowski se curvou por cima do garoto, mexendo nos botões de uma caixinha que parecia uma mistura de controle remoto de TV com controle remoto de um brinquedo. Os olhos do garoto estavam tão apertados que chegavam a tremer.
— O que você está sentindo agora, Mario, é a energia negativa infligida pela vivência — explicou o médico, como se o garoto fosse entender esse palavreado. — O medo perturbou seus campos energéticos e bloqueou o fluxo normal das suas emoções.
O médico mexeu um dedo sobre sua caixa de controle. — Eu posso lhe ajudar. Agora vai doer um pouco, mas quero que você fique pensando num espaço escuro e apertado.
Kracowski apertou um botão e o garoto tremeu incontrolavelmente por alguns segundos. Bondurant olhava preocupado para o monitor do computador e viu que a linha de baixo estava reta e contínua. O coração do garoto parara.
Bondurant juntou as mãos espalmadas e pediu a Jesus para que tivesse clemência tanto do garoto quanto da boa posição de Wendover.
Na Treze, o garoto caíra de costas na cama. Kracowski ajustou os controles na caixa que tinha nas mãos e acionou uma alavanca com o polegar. As duas linhas no gráfico do computador deram um salto abrupto e começaram a correr em sincronia. O espaço entre as linhas se estreitara e a linha de cima não era mais irregular e inconsistente. O vermelho em seu mapa cerebral se suavizou para um roxo suave.
Kracowski se curvou sobre Mário e levantou-lhe uma das pálpebras. O médico sorriu, voltou-se para o espelho e assentiu com a cabeça. Em seguida, começou a remover os eletrodos. Kracowski desligou as luzes e saiu da sala.
Momentos depois, a porta do escritório se abriu. Bondurant fingia estudar os estranhos itens sobre a mesa do Dr. Kracowski. Um cérebro humano, de aparência crenada e obscena, flutuava numa jarra de formol. A etiqueta na jarra dizia: “Não abrir até o Dia do Juízo Final”. Bondurant estremeceu ante ao sacrilégio.
— Satisfeito? — passou Kracowski rapidamente por Bondurant enquanto arrastava o maço de dados impressos até a mesa.
— Contanto que não esteja morto.
— Ele não só não está morto como está melhor que nunca. Há quanto tempo os terapeutas estão trabalhando com esse menino?
— Seis meses.
— Seis meses de sugestões e jogos mentais e bondade dissimulada. E a claustrofobia do garoto não melhorou.
— É claro que não.
— Transtorno por estresse pós-traumático, transtorno de adaptação, possível diagnóstico de Axial IV de arritmia cardíaca situacional devido à ansiedade. É energia negativa demais, o senhor não acha?
Kracowski se sentou à mesa. Bondurant ficou como um serviçal à espera de ordens. — O garoto tem medo do escuro. O Senhor é a luz — disse Bondurant.
— É uma resposta que funciona para o senhor, não importa qual seja a pergunta. — Kracowski balançou a cabeça em direção à estante. — No entanto, há dez mil caminhos para o conhecimento, para Deus ou para a verdade. De acordo com a teoria quântica, nós nem existimos como entidades separadas porque nossos átomos não têm substância quando se chega próximo do centro. Segundo a filosofia taoísta, quanto mais próximo se chega do centro, mais longe se chega a partir de onde se está indo. Segundo o Dr. Richard Kracowski, o centro e os limites exteriores são exatamente a mesma coisa.
Bondurant olhou para a janela escura da Treze. — O que acontecerá quando ele acordar e começar a gritar?
Kracowski juntou os dedos das mãos, que pareciam ossos pintados. — Ele não vai gritar.
— Desde que ele chegou, insistia em deixar uma luz acesa à noite.
— Esse é um dos seus erros. O senhor está tratando os sintomas e não a causa subjacente.
— Claro. Nós também o alimentamos, o educamos, lhe demos aconselhamento individual e terapia de grupo. Nós o deixamos que se lamentasse.
— O senhor o deixou se lamentar. Por um pai que se importava tão pouco que conseguiu trancar num armário o próprio filho. O senhor deveria ter ensinado o garoto a odiar esse canalha.
— Não pelo cuidado compassivo que Wendover representa.
— Não estou falando sobre as máximas e os estatutos da missão que o senhor ostenta nos seus congressos de psicologia infantil. Estou falando de cura. Estou falando de perfeita harmonia e equilíbrio.
Kracowski deu um tapinha na tela do computador. O mapa cerebral agora exibia um azul-cobalto intenso. — Essa, Sr. Bondurant, é a cor da cura. Azul-cobalto é a cor de Deus.
Bondurant observava a tela do monitor enquanto acompanhava a frequência cardíaca constante do garoto. — Então o senhor o cura matando-o por alguns segundos.
— Melhor morrer por segundos que viver pela metade por mais setenta e dois vírgula três anos. O senhor não sabe nada sobre TSS.
— Terapia de Sinergia Sináptica. Eu li o esboço do seu artigo, o senhor se lembra.
— É muito mais que uma sigla. Funciona. Baixa tensão nos meridianos emocionais adequados, aplicados pelo tempo suficiente para desfazer o bloqueio. Campos eletromagnéticos com diversos comprimentos de onda para influenciar os neutrotransmissores e o fluxo sanguíneo cerebral. Radiofarmacêuticos para mapear a química do cérebro. Além disso, a força do pensamento positivo.
Bondurant se virou. — Mesmo que o funcionamento do coração seja interrompido?
Kracowski sorriu, formando fossos sombrios com as rugas das bochechas. — Um homem de fé sabe que mente e coração estão interligados.
— A fé também é uma ciência.
— Então prove.
— A garota. O senhor ministrou-lhe um tratamento de TSS além de terapia de renascimento?
— O senhor queria mesmo curar a promiscuidade dela, não queria? Não é uma das coisas proibidas por Moisés e suas amadas tabuletas de pedra?
Bondurant suava nas palmas das mãos ao lembrar-se da garota em seu escritório, curvando-a sobre a mesa e aplicando-lhe o tratamento da palmatória em sua carne pecadora. Ela protestara, mas sabia o preço da queixa. Deus precisa de agentes como Bondurant que empunhem a espada e o cetro. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade.
E o melhor sintoma do tratamento TSS de Kracowski era que geralmente causava um breve lapso de memória. Um intervalo a ser aproveitado.
— Deus nada disse a Moisés acerca do tratamento da claustrofobia — disse Bondurant.
— O senhor alguma vez considerou — retrucou Kracowski, curvando-se para frente — que Deus possa ter dito algo sobre isso para mim?
Bondurant engoliu seco. Kracowski o estava provocando, já que sabia quem controlava a caderneta de Wendover. E os tais investidores ocultos tinham engordado o salário do Bondurant com um bônus de dez por cento. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade e mais uma tonelada de besteiras para engolir. Bondurant estava prestes a falar alguma coisa quando o computador começou a apitar e a impressora fez com que mais papel se amontoasse sobre o piso.
— O garoto — interrompeu Kracowski. — Ele está despertando.
— Pelo amor de Deus, ligue as luzes da sala.
— “Por que este medo, gente de pouca fé?”
— O senhor nunca ouviu os gritos dele. Nunca está por aqui à noite.
— Olhe que eu posso estar por perto mais do que imagina. — Kracowski se aproximou do espelho. — E as câmeras não mentem.
Dentro da Treze, o vulto do garoto mal era visível na escuridão. Seus olhos se abriram num átimo e o microfone captava a respiração arfante. O gráfico da frequência cardíaca aumentou intensamente. Bondurant apertava os dedos.
Escuro. Ele acha que está naquele armário. Agora ele vai gritar.
O garoto se sentou. No monitor, as duas linhas gêmeas subiram e desceram em movimento paralelo. O mapa cerebral pulsava em tons de vermelho e azul-anil.
— Está vendo a leitura de cima? — perguntou Kracowski. — É o campo energético dele sendo medido nos pontos meridianos que eu determinei. O senhor notou como estavam irregulares antes do meu tratamento?
— Antes do eletrochoque, o senhor diz?
— Sr. Bondurant, que comparação grosseira. Não sou psicocirurgião. Não tento curar destruindo o cérebro. Não faço lobotomias frontais ou sei lá o termo que se usa hoje em dia para despersonalização sistemática. Eu só desvio o resíduo traumático que bloqueia o funcionamento normal dos neutrotransmissores cerebrais.
Que turpilóquio, pensava Bondurant. O papo tecnológico do Kracowski era tão furado quanto o papo psicológico dos conselheiros.
Mario olhou em volta, sem pressa, curioso. Foi preciso três homens para segurar o garoto durante a primeira noite dele no abrigo quando desligaram as luzes do Salão Azul e o garoto tentou fugir pela saída, escalar as paredes e meter a testa contra a porta de aço. Agora o garoto estava sentado como se estivesse meditando de olhos abertos.
— Ele não está gritando — observou Bondurant.
— Ele não parece se sentir desconfortável em espaço confinado — completou Kracowski.
O monitor mostrava a linha de cima do gráfico nivelada enquanto a linha de baixo subia e descia regularmente. Kracowski acenou a mão, ondulando-a para indicar o padrão. — Calmo como um bebê no colo.
— Devo admitir: o tratamento é impressionante. Qual a duração dos efeitos?
— Minha pesquisa inicial mostra que pode ser temporário. Mesmo que os neurotransmissores possam ser, digamos, “realinhados” todo mês, é uma taxa de êxito maior que as divulgadas pelos seus psicólogos.
Mario olhou para o espelho e, por um momento, Bondurant ficou perplexo com a impressão de que o garoto conseguia vê-lo. — Qual a possibilidade de uma lesão cardíaca?
— Nenhuma. É como se um interruptor de luz fosse desligado e ligado de novo.
— Espero que sim. Um incidente sequer e a comissão de licenciamento e os investigadores do Serviço Social varrerão este lugar como um pelotão de ataque. Não acho que eles encontrariam as técnicas do senhor no capítulo de práticas padrão.
— O trabalho do senhor é mantê-los longe daqui, pelo menos até eu concluir meu trabalho. Aí sim, eles — e o resto do mundo — finalmente verão a luz.
Bondurant estremeceu quando Kracowski enfatizou a palavra trabalho. Ele a proferira com um fervor quase religioso. Kracowski teria dado um bom pastor, mas o homem se regozijava em curar uma mente atormentada em vez de conduzir um coração atormentado nos caminhos do Senhor.
Dentro da sala escura, Mario chamou: — Olá? Já terminamos? Estou com fome.
Kracowski apertou um botão e a Treze ficou toda iluminada. — Acho que não conseguiria curar esse transtorno alimentar. Vamos deixar isso para a próxima vez.
Randy e a Dra. Swenson entraram no quarto e removeram-lhe o equipamento de contenção. A Dra. Swenson perguntou: — Mário, que tal um jogo de baralho?
— Jogo de baralho? — perguntou Mario. — ¿Qué clase?
Kracowski sorriu.
Bondurant receou perguntar se os tratamentos TSS causavam outros efeitos colaterais negativos além de morte temporária.
CAPÍTULO 9
Ele percebeu que não ia durar.
A hora do recreio fora agradável e Freeman conseguira um lugar ótimo nas pedras para tomar sol de olhos fechados. Ele ficou surpreso que as crianças pudessem chegar perto do lago, já que dentre elas poderia haver casos de tentativa de suicídio. Muitas das crianças se dividiram em grupos perto do prédio principal. Do gramado ouviam-se a gritaria e os guinchos de borracha dos tênis numa partida de futebol.
Freeman abriu um dos olhos diretamente contra um raio de sol alaranjado. As montanhas se amontoavam como animais gigantes em torno do abrigo. Fazendas e pastos se estendiam para além da cerca até o contraforte da serra, dando a Freeman uma sensação de desconforto, como se com dois passos as montanhas chegassem em cima dele sem nenhuma árvore no caminho para dificultar sua chegada. Ele esperou que fosse acometido de agorafobia além dos problemas que já tinha.
Deke e seu pelotão de intimidação estavam num capoeirão entre os arbustos, perto da cerca nos fundos da propriedade. Uma nesga de fumaça subia das sombras — tabaco ou maconha. Deke provavelmente tinha um fornecimento constante de contrabando, mais uma forma de manter seu trono e receber tributos e lealdade de seus súditos parvos.
— Uma moeda pelos seus pensamentos — disse uma voz abaixo dele. Voz de menina.
Vicky.
A respiração de Freeman ficou retida nos pulmões como se inalara uma das nuvens mais altas. Sua pulsação disparou e a cicatriz começou a coçar. Ele arregalou os olhos e cogitou fingir estar dormindo.
— Que tal dez centavos? — perguntou ela.
Freeman piscou e se sentou, fingindo estar sonolento. Ela afirmou ter percepção extrassensorial e, a menos que tivesse aprendido a mentir telepaticamente, ele não a poderia ignorar para sempre. E ele não estava certo se queria ou não. — Oi.
— Você é novato aqui.
Incríveis capacidades de observação.
Mas antes que conseguisse torcer a boca, seus olhares se cruzaram e Freeman novamente sentiu o peito expandir e o coração ficar leve. Ou seriam os remédios alterando sua consciência? — Cheguei hoje.
— Primeira internação?
— Nem. Sou crônico.
Ela virou os olhos negros e assustadores. — Ninguém nasce assim.
Que inferno. Ela não está me perguntando sobre ELE, né? O papai não. Rápido, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto.
Ele pensou numa das deixas de conversação que aprendera naquelas sessões especiais extraclasse que os abrigos temporários adoravam fazer. Que você vai fazer depois do jogo? Qual o nome do seu gato? Como foram suas férias? Nenhuma delas parecia se encaixar porque Freeman ainda estava para ver uma descontração calorosa perfeita para toda família viciada em televisão que produzia um monte de gente retardada.
— Talvez a gente nasça com um pouco disso — respondeu finalmente.
— É. Acredite ou não, já ouvi dizerem que eu era gordinha quando bebê. — Ela brincava com uma folha seca, passando os dedos pelas nervuras mortas e de volta até as costas da mão. Freeman nunca vira tão claramente o mecanismo interno da mão humana. As juntas dela eram nós, as unhas eram grandes demais para a carne escassa das pontas dos dedos.
Não vamos falar sobre os nossos problemas — essa é a regra de ouro para fingir sanidade e normalidade. E, quanto mais rápido eles acharem que você é normal, mais rápido consegue sair de Dodge. Afinal, deve haver um lugar por aí em que não vai ter alguém querendo abrir sua cabeça vinte e cinco horas por dia para sondá-la com microscópios e pesquisas.
Conversinha sem propósito era muitíssimo mais fácil que falar sobre coisas reais, por isso ele tentou o óbvio. — Você já está em Wendover há quanto tempo?
— Seis meses, se você estiver usando o calendário como referência, ou duzentos anos, que é a sensação real de tempo passado aqui.
— Já estive em lugares piores. Acabei de chegar da Academia Durham. Duas semanas antes da minha transferência, um cara de dezessete anos foi degolado com uma faca de plástico.
— Dureza. Aqui não acontece esse tipo de coisa. Mas tem problemas diferentes com que se preocupar.
Freeman não tinha certeza do que cairia melhor: De Niro em O último magnata ou Clint Eastwood em As pontes de Madison. E ele ainda não tinha certeza se queria conhecê-la. Ele já renunciara o cargo de defensor dos fracos e oprimidos e Vicky parecia fraca pra caramba. — Sempre tem alguma coisa com que se preocupar, se você prestar atenção.
— É o que a Starlene diz — comentou Vicky. — Sobre preocupação. Ela diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Só que é fácil pra ela. Ela tá numa onda de Jesus que, perto dela, o Franklin Graham parece um condenado sem esperança. E ela tem um cabelo mais bem arrumado.
Freeman rolou sobre um cotovelo. Vicky se sentou de pernas cruzadas sobre o pedregulho cinza azulado. Seu olhar cruzava o lago a partir do rosto branco, como se ela esquecesse o que acabara de dizer e como se não se importasse a mínima com a resposta.
— Eu até que gosto da Starlene — disse Freeman. — Ela não parece doida como os outros.
— Eu acho ela legal. Só não gosto de gente que fica tentando resolver meus problemas no meu lugar.
— Nem eu.
— Você não parece ter problema nenhum, apesar da sua ceninha.
Freeman ficou sem saber se tomava isso como um elogio ou não. — Sabe quem me dá arrepios? O Bondurant.
— Ah, o Bon-cabeção.
— Ele parece um lagarto.
As sobrancelhas de Vicky se arquearam e um sorriso se esboçou no canto dos seus lábios exangues. — Réptil, sem dúvida.
Freeman mostrou uma pontinha de língua, algo entre os trejeitos do Bondurant e um sapo prestes a capturar uma libélula. Vicky riu e sua risada era uma música, uma melodia em contraponto com o vento, as árvores e os gritos das brincadeiras. Freeman sentiu que havia algo de errado, como se estivesse caindo de grande altura. Depois, percebeu o que era: por um momento ele se aproximou terrivelmente de uma sensação de relaxamento e despreocupação.
“Nunca baixe a guarda: é aí que eles pegam você.” Al Pacino em Um dia de cão.
Uma voz se projetou a partir do pé do rochedo. — Tá rindo de quê, cabeção?
Era o Deke. Enquanto Freeman estava distraído, perdido com uma besteira feliz, o esquadrão da intimidação margeara o lago e se juntara abaixo dele e da Vicky. Deke deu um sorriso amarelo sarcástico com os dentes manchados do que quer que tenha fumado.
Freeman olhou para o grupo de conselheiros. Eles estavam sentados à mesa de piquenique atrás de um carvalho, perdidos em suas preocupações, salários, dias de folga e níveis de certificação. Randy estava fazendo um movimento de nado com os braços. Starlene deu-lhe um tapa suave no ombro. Allen balançou a cabeça para o casal como se tivesse entendido.
Nenhuma ajuda viria dali.
Vicky moveu-se com cuidado mais para perto de Freeman enquanto Deke escalava o rochedo. — Tá só voando no melzinho, né, cabeção! — provocou o gordinho. — Só de beijinho com a vômito-solto?
Freeman detectou duas rotas de fuga: mergulhar no lago, que estava tão gelado que ele quebraria o pescoço nos primeiros três metros de nado, ou rolaria para trás do pedregulho e sairia correndo. Mesmo se o fizesse, o que aconteceria com a Vicky? Seus músculos se retesaram enquanto ele percebia de novo que estava naquela de defensor de fracos e oprimidos.
O Casaco Verde e os outros valentões agora estavam atrás do Freeman. Ele passara tempo demais hesitando — ou seja, ele teria que confiar na sua destreza mais uma vez. Apesar de não representar nenhum desafio, passar a perna no Deke ficava mais difícil a cada segundo.
— Gostou do livro? — perguntou Freeman. Vicky estava praticamente encostada nele.
Deke ficou de pé acima dos dois com as mãos na cintura. — Você não tirou aquilo do escritório do Bondo. Você é um babaca mentiroso.
— É uma opinião sua sem fundamento, baseada no que você acredita. E é bom para sua autoimagem se expressar livremente.
— Qual é o lance? Por que você tá falando igual um conselheiro de repente?
— Eu quero ajudar você, Reginald.
— Meu nome não é Reginald.
Freeman se abaixou até ficar ajoelhado. Ele sentia que Vicky não tirava os olhos dele. — Há quanto tempo você sente essa hostilidade latente?
Deke cutucou Freeman com o pé. — Não tem nada de latente coisa nenhuma.
— Não tem problema, Reginald. Reconheça seus sentimentos. Solte-se.
As bochechas de Deke coraram. Ele apertou os punhos, sabendo que a plateia esperava uma resposta rude. — Vou te dar um murro tão forte que você vai voltar pra onde você veio, seu merda.
Freeman se adiantou, falando antes que o punho de Deke descesse. — Você não vai recorrer à violência na frente de uma dama, vai? O que é que os outros vão achar da sua educação? O que sua mãe diria?
— Cara, não mete essa vagabunda na história, senão...
— Ah, então pra você a Vicky está representando a posição de mãe e você acha que vai ganhar o afeto dela provando que é valente. — Freeman sentiu um risco de suor a lhe serpentear pelo pescoço. Ele esperava que nenhum dos valentões tivessem notado. Ele manteve o rosto o mais neutro possível, tão neutro quanto o do cara da faxina. O que o Clint faria? Quer dizer, quando ele não tinha uma arma.
— Você acha que eu ligo pra esse monte de dedos? — Deke desfez o punho e acenou para Vicky com os dedos. — Não gosto de meninas que vomitam depois de comer.
— Se uma garota estivesse com você, ela ia vomitar de qualquer jeito — provocou Vicky. Freeman arriscou transferir o olhar de Deke para Vicky por um segundo. Os olhos dela pulsavam irados. E ela para Freeman: — Valeu por ter me feito passar por isso, Steve.
— Meu nome não é Steve — contestou Freeman.
— Opa, peraí — disse o Casaco Verde. — Achei que o nome dele era “Theodore” ou um nome frutinha tipo esse.
— Cala essa boca — interrompeu Deke. — Deixa; quem fala aqui sou eu.
— Isso mesmo, Reginald — conduziu Freeman. — Aprenda a se abrir. Seus sentimentos têm valor. Divida conosco. Agora abra aquele sorriso, daqueles que nos aquecem só com o calor do otimismo.
Deke olhava vacilante em direção aos conselheiros reunidos ao longe, na mesa de piquenique. — Eles te empurraram essa merda toda goela abaixo, né?
— Pense positivamente.
— Você é estranho, cara.
— Eu sou estranho? Você está aí, numa pedra, cercado de meia dúzia de moleques que precisa impressionar. Você tá tentando intimidar um cara que nunca tinha visto na vida e uma menina com um terço do seu peso. Você tem uns quinze anos e ainda está num abrigo infantil quando a maioria dos teus colegas lá fora já tá pegando no pesado. Você tem sérios problemas de autocontrole e, provavelmente, um complexo de Édipo te esperando na esquina. E depois eu é que sou o esquisito? — Freeman simulou um suspiro exasperado. — Reginald, meu velho, você tem muito ainda pela frente.
— Cara, meu nome não é esse. Meu nome é Deke.
Freeman abriu as palmas em resignação, dando de ombros para os valentões. — De novo, vamos seguir a senda em direção à cura.
— O único caminho que eu vou seguir passa em cima da tua cara.
— Tendências ao sadismo — comentou com Vicky, como se estivesse consultando sua opinião clínica.
— E eu acrescentaria aí o complexo de Édipo — disse ela.
— Olha, se eu quisesse edi... edi... se eu quisesse fazer isso, espertona, você não ia parar de me pedir — disse-lhe.
— Disfunção erétil — relatou ela. — Ejaculação precoce. Princípio de impotência.
Alguns dos valentões começavam a dar risinhos, esfregando seus projetos de barba. Casaco Verde comentou: — Acho que ela tá falando do teu bilau.
— Sem dúvida — disse ela. — Tenho certeza de que se trata de um indivíduo que se compara ao Davi de Michelangelo em volume fálico.
— Pelo jeito tá a fim de descobrir — lançou Deke. O rosto dele ficou ainda mais vermelho, da cor do sol no lago. Estava ofegante.
— Estou curiosa — disse-lhe Vicky.
Freeman é que estava curioso, pensando em aonde ela queria chegar. Uma coisa era dar voltas intelectuais em torno de Deke, mas desferir golpes abaixo da cintura podia deixá-lo perigoso.
— Mostra pra ela, cara! — desafiou Casaco Verde.
— Mostra — juntou-se um dos valentões. Alguns deles se juntaram ao coro.
Deke conferiu os conselheiros de novo, desta vez em desespero. De repente tocou o sinal e os gritos do pátio viraram suspiros desapontados e, em seguida, silêncio.
Deke deu um puxão no cós das calças. — Você teve sorte, neném — disse para Vicky.
Ela virou os olhos e não disse nada.
— Vamos sair daqui antes que ela vomite — recuou. Os valentões seguiram seu líder para longe das pedras em direção ao prédio. Alguns dos valentões se viraram para Vicky com olhar de velada apreciação.
— Jogou bem — disse Freeman.
— Você podia ter sido mais esperto.
— As palavras difíceis sumiram da minha cabeça.
— Da próxima vez eu te empresto algumas. Me chamo Vicky.
— Eu sei. Não te falei que tenho o dom da percepção?
— E sua percepção te disse como é que descobri o teu nome?
— Já sei: você leu a minha mente.
Vicky se levantou e tocou-lhe a testa. — Nem foi. Aí é um lugar que eu não quero ir de novo.
Ela desceu do rochedo num pulo e se dirigiu ao pátio. Freeman se vira obrigado a mudar de opinião: apesar de mirrada e magrinha, com certeza ela não era um dos fracos.
CAPÍTULO 10
Não. Não podia ser ele.
Starlene estava no térreo, indo para os escritórios na entrada principal com os braços cheios de relatórios. Bondurant lhe dera cópias do histórico de Freeman e, como o garoto faria parte do grupo dela, ela planejou ficar um passo à frente. Ela estivera ponderando algo que Bondurant comentara sobre o garoto que “sabia demais” quando viu de novo o estranho homem de camisolão.
O homem tinha ombros caídos e uma postura alquebrada. Ele girou a cabeça lentamente e Starlene viu os olhos mais vazios e tristes que jamais vira. O homem lhe acenou com a cabeça e arrastou os pés em direção à ala oeste.
— Ei, espera! — Starlene correu atrás dele martelando os saltos corredor afora. Ela o perdera outrora, mas agora ele não tinha como sumir. Ela queria arrastar o homem até o escritório do Bondurant e mostrar para o Randy que o incidente no lago não era fruto de sua imaginação.
Eles estavam entrando na seção onde o Dr. Kracowski realizava as sessões de terapia. Kracowski não queria barulho. Ou melhor, Bondurant não queria, sob as ordens do médico. Starlene nunca fora apresentada ao médico, que parecia tão esquivo e mítico quanto o velho que ela perseguia.
Chegou até a esquina e a dobrou ansiosa e resfolegante. O corredor ante seus olhos estava vazio.
Não. De novo, não. Ele era REAL.
Algo reluzia nos ladrilhos lúgubres do piso. Starlene se ajoelhou e deu uma limpadela com o dedo. Água. Atrás dela havia um rastro de pegadas molhadas.
— Ei! — chamou novamente, indecisa.
Uma das portas se abriu. Um homem alto de cabelos castanhos saiu com a prancheta frouxamente presa entre os dedos. Ele vestia um jaleco branco com os bolsos puídos. Uma barba azulada recobria-lhe as bochechas. Ele parecia estar tirando um cochilo em sua sala. — Perdeu alguma coisa? — perguntou o homem.
— O senhor viu alguém passando por aqui?
— Alguém?
— Um homem, vestido de camisolão, meio curvado, descalço.
O homem alto sorriu. — Diga, minha cara, é nova aqui?
Minha cara? Ele falava como um personagem de seriado dos anos 1950. — Trabalho aqui há quase três meses.
— Ah, está explicado.
— O quê?
— É o vigia Larry, o espectro do abrigo.
— Espectro? Quer dizer, um...
— A senhorita costuma perguntar tanto assim?
— Só quando acho que estou perdendo o juízo.
— Aqui a gente não perde o juízo: a gente acha. Suponho que o vigia Larry seja um fantasma. Eu mesmo nunca o vi, já que não acredito em fantasma.
— Essa água aqui é real — contestou Starlene, embora a maioria das pegadas já tivessem evaporado.
— Não estou vendo água nenhuma — disse o homem.
— Ah, então o senhor também não acredita em água?
O homem sorriu. — Se eu pudesse fazer algo desaparecer só deixando de acreditar, acho que Deus já teria morrido há muito tempo. Perdoe-me os modos. Sou o Dr. Kracowski.
Ele disse o nome com um ar de que conhecia a reputação que o precedia.
— Prazer, doutor. Finalmente o conheci. Sou a conselheira Starlene Rogers.
— Ah, sim, Bondurant me avisou sobre a senhorita.
— Avisou? Hm. O que você sabe sobre o vigia Larry? Eu já o vi duas vezes hoje e até hoje nunca tive nenhum motivo para duvidar do que vejo. Eu também não acredito em fantasma. Mas acredito em Deus.
— Ah, então a senhorita já viu Deus? — Kracowski olhou para o teto. — Na verdade, eu tenho uma teoria de que o vigia Larry é Deus.
— Eu adoraria discutir religião com o senhor uma hora dessas, mas neste momento, queria saber se estou ou não ficando louca.
— Srta. Rogers, a palavra “louco” não está mais nos dicionários. As alucinações são a marca registrada da esquizofrenia ou, segundo diagnósticos com os quais não concordo, distúrbios delirantes.
As pegadas se evaporaram completamente e Starlene não tinha mais certeza se as vira ali ou não. — Então sou esquizofrênica porque achei ter visto alguém que não existe?
— Ou isso, ou então a senhorita é uma visionária religiosa.
— Mas o senhor disse que outras pessoas já o viram. Ele tem até um nome.
O médico se curvou para frente, conspirativo. — Sinto muito lhe dizer, mas todas as pessoas que dizem ter visto o vigia Larry eram pacientes nossos.
Starlene olhou para um lado e para o outro do corredor. — Então existe mais gente que tem a mesma alucinação? Achei que um homem da ciência consideraria isso uma prova corroborativa.
Kracowski segurou a prancheta, mostrando a Starlene os gráficos e tabelas nela afixados. — Prova é algo que pode ser medido, quantificado, demonstrado. Certamente a senhorita estudou metodologia científica na faculdade, mesmo sendo hoje uma conselheira.
Starlene não gostou da mordida sarcástica que o médico reservou para a última palavra. Já era ruim o bastante receber olhares estranhos dos membros da igreja e da vizinhança, mas ter que enfrentar a mesma coisa de alguém da mesma profissão...
— Talvez tenha sido um efeito da luz — disse ela. — Os corredores são escuros. Digo, se fosse mesmo um fantasma, e não acredito em fantasmas, eu não teria visto nada. Não é?
— Parece que a senhorita já está curada.
— Faça-me um favor?
O médico sorriu de novo com os olhos semicerrados. — Pela senhorita, faço qualquer coisa.
— Não comente sobre isso com o Bondurant. Não quero que ele comece a pensar que foi um erro me contratar.
— Ah, tenho certeza de que Bondurant sabia exatamente o que estava fazendo. Pelo bem das crianças, não é mesmo?
Será que a última frase de Kracowski era uma gozação com Bondurant e o jeito dele de falar apertando os lábios? — Quero que ele confie em mim — disse ela.
— Pela parte que me toca, o que aconteceu aqui fica em segredo entre nós: a senhorita, eu e o teu chapa Larry.
Starlene quis atochar a prancheta do Kracowski no sorriso dele. Ela fez uma pequena oração pedindo perdão a Kracowski, pela arrogância, e para si mesma, para que se livrasse da ira. Esse era o primeiro trabalho dela; para um conselheiro, o equivalente a uma zona de combate — e ela queria ser um bom soldado. Deus a enviara até lá por um motivo e ela não precisava entender Seus desígnios até que Ele achasse necessário.
— Com licença, tenho uma sessão de grupo para conduzir. — Ela caminhou para os fundos do corredor até o poço da escada, sentindo os olhos de Kracowski sobre ela.
— Foi um prazer conhecê-la — despediu-se Kracowski enquanto ela dobrava a esquina. Starlene continuou andando.
Na faculdade, Starlene estudara o fenômeno em que estudantes de medicina sentiam neles mesmos os sintomas das doenças que estavam estudando. Hipocondria do estudante de medicina. O mesmo valia para os estudantes de psicologia, embora os sintomas fossem mais nebulosos. Talvez trabalhar com crianças problemáticas tivesse deixado um parafuso solto na cabeça dela. Será que alucinação era contagioso?
Claro. E a histeria em massa de Salém terminou em bruxas enforcadas. A raça humana caminhara um longo percurso e o campo da psicologia chegou ainda mais longe. Não se usava mais trinchar o cérebro dos outros em pedaços para extirpar emoções e isso até precisava de autorização do paciente. Eletrochoque não era mais automático para quem procurava se tratar de depressão. A insanidade não era mais um esporte com espectadores, como acontecera no hospital Santa Maria de Belém na Londres do séc. XVII, conhecido como Bedlam entre os turistas que davam dois centavos pelo show.
Não, ela não vira um fantasma. Só gente louca vê fantasma e, como dissera o Dr. Kracowski, hoje em dia não existem loucos. Especialmente ela.
E ver um fantasma duas vezes significaria que ela era duas vezes louca. Ela enterrou essa história de fantasmas e empurrou a porta da Sete. Sua missão era ajudar crianças. Ela não podia se preocupar em ajudar a si mesma.
A sala era meio vazia, com uma escrivaninha no canto e um quadro-negro empoeirado na parede. Os cartazes traziam frases eternas de “Diga não às drogas” e “Um sorriso é a cura para tudo”. Pela janela, o sol fazia seu caminho por trás dos cumes negros e distantes da serra. Sete jovens estavam sentados em círculo. Dois deles tortos na cadeira, emburrados: Deke, o adolescente atarracado cuja fama tirânica era conhecida por Starlene, e Raymond, com sua onipresente jaqueta verde-oliva.
Os outros observavam Starlene se sentar no círculo em sua posição de liderança: Vicky, a pálida de olhos grandes, cujo vestido se lhe pendia do corpo como se estivesse num cabide; o novato, Freeman; Mario, com calças pescando siri, que raramente falava; Isaac, acometido de um sério complexo de perseguição, e Cynthia, que gostava de ser chamada de “sim-sim”. Cynthia parecia ter-se recuperado de seu recente tratamento, mas seus olhos tinham fagulhas de uma rebeldia desconfiada.
Pronta para o combate, Starlene?
Starlene adorava trabalhar com grupo. O ambiente era perfeito para ensinar habilidades de socialização e também para conquistar a confiança dos jovens. Em terapia de grupo, ela podia ser uma “facilitadora”, embora odiasse essa palavra. Facilitador era alguém estruturado e inflexível, que “capacitava” os outros sem assumir riscos pessoais. Ela gostava de imaginar-se como “testemunha”, mostrando aos outros as bênçãos que descobrira e que gostaria de compartilhar.
— Ei, pessoal — disse ela olhando rosto a rosto.
— Tá atrasada — acusou Deke.
— Desculpe-me o atraso. Os adultos têm de se desculpar às vezes, não é, Freeman?
Freeman tremeu de susto, contraiu o canto da boca e nada disse.
— Você vai fazer a gente falar sobre alguma coisa ou a gente vai ficar aqui uma hora sentado? — perguntou Deke.
— Eu prefiro quando a gente se deixa tudo livre — respondeu Starlene.
— Porque compartilhar é cuidar — completou Freeman.
Ela ignorou o sarcasmo. Muitos internos chegavam a Wendover com uma muralha no peito. Não é possível derrubá-la a marretadas: desferir golpes só a deixa mais forte. O amor é uma ferramenta melhor. Ele se infiltra nas rachaduras e dissolve esse paredão, enfraquecendo-o pela base até que as pedras venham a baixo. — Nós cuidamos sim, Freeman.
Deke olhou furiosamente para Freeman e em seguida para Starlene. Ele olhou em todo o círculo para as crianças sentadas nas cadeiras irreclináveis para se certificar de que tinha público. — Nem todo mundo cuida, seu esquisito.
Starlene estava prestes a calar Deke, mas decidiu que a dinâmica de grupo seria mais interessante se as crianças discutissem entre elas. Bem que a liderança natural de Deke podia não se tornar odiosa tão facilmente. Seis anos na terapia, de acordo com o prontuário, e Deke não estava nem perto de se ajustar à sociedade o tanto que deveria. Ainda assim, Deus e suas obrigações profissionais exigiam que ela tivesse esperanças.
Só que paciência era uma virtude severa. Assim advertiram os professores de psicologia da faculdade — que às vezes dava uma vontade de enfiar a mão na cara do Joãozinho. Não importava o abuso que ele sofrera e o desequilíbrio neuroquímico que o afligia, nem o diagnóstico de transtorno de adaptação, às vezes não dava vontade nenhuma de saber se o tipo de praga era, e sempre seria, de rato.
— Por que você pensa que Freeman é “esquisito”? — Starlene perguntou a Deke.
— Ele é estranho. Gosta de livro, essas coisas. Fica sentado sozinho. Não fala com os outros e, quando diz alguma coisa, é só palavra complicada que ninguém entende.
— E como você responderia a isso, Freeman?
Freeman deu de ombros e afundou um pouco mais na cadeira. — Não faça com os outros o que não querem que façam com você.
— Ah, um ensinamento da Bíblia. É uma boa regra de conduta.
— Só que — corrigiu Freeman — essa doutrina pertence a muitas religiões. Cientologia, budismo, islamismo...
— Tá vendo? — cortou Deke. — Esquisito.
— E ele é ladrão também — acrescentou Raymond.
— Que atire a primeira pedra o homem que nunca pecou — retrucou Freeman.
— Epa — protestou Cynthia. — Mas e a mulher? As mulheres podem pecar tanto quanto os homens.
Raymond mandou um assobio com os dedos entre os lábios. — E você deve saber disso, né, gostosa?
— Até parece que você vai ter essa sorte — retrucou ela.
Starlene cortou o assunto antes que a verborragia recrudescesse. — Por que vocês acusam Freeman de ser ladrão? — Starlene perguntou a Raymond.
Raymond e Deke trocaram olhares. Vicky, que ficara em silêncio até então, observando a conversa como se fosse uma bola numa partida de tênis, finalmente falou.
— Porque eles se sentem ameaçados — respondeu ela. — Eles ficam inseguros e tentam compensar dominando os outros meninos. Sempre que chega alguém novo, Deke e Raymond e a turma deles têm que derrubar o novato pra eles se sentirem por cima.
— Não sou inseguro coisa nenhuma — protestou Deke.
— Disfuncional, psicológica e fisicamente. Lembra lá das pedras?
— Pelo menos eu não vomito toda vez que eu me viro — disse Deke.
Vicky ficou ainda mais pálida, se é que era possível, embora duas rosas vermelhas de raiva tivessem desabrochado em suas bochechas. Starlene nunca vira um grupo acalorar uma discussão assim tão rapidamente. Algumas hostilidades ocultas se revelaram. Ela deveria interromper o fluxo, conduzi-los de volta a assuntos seguros, como feriados e esportes e a capela de Wendover. Essa limpeza do ar, porém, podia ser uma boa coisa para as crianças, quase nunca conseguiram extravasar suas frustrações. Melhor que se abram aqui que numa sessão de aconselhamento individual ou numa briga de socos no pátio.
— Pessoal — chamou atenção Starlene. — Lembrem-se que devemos cuidar uns dos outros. Estamos nisso juntos.
— Besteira — disse Deke. — Não vem com essa de babaquice de “todos irmãos”. A gente já ouve isso demais lá na capela.
— Lembra daquela parte da Bíblia sobre não cobiçar o jumento do próximo? — perguntou Freeman.
— Não tem nada disso na Bíblia — contestou Deke, voltando-se para Starlene. — Viu como ele é esquisito?
— Está lá — afirmou Freeman. — A versão original dos Dez Mandamentos. A forma mais longa geralmente é cortada para caber nos cartazes que ficam nos tribunais ou nas salas de aula. E ainda tem muita coisa boa também sobre escravos e sobre um Deus temperamental. E foi o próprio Cara-lá-do-céu que disse isso.
— Parece que você conhece bem a Bíblia, Freeman — observou Starlene.
— Ele deve ter roubado uma cópia — supôs Raymond.
— É, dois gatunos — disse Deke com Raymond. — Eu tenho uma com o autógrafo de Jesus. Quer comprar?
Raymond se esticou da cadeira com os punhos cerrados. Deke levantou as mãos e sorriu maliciosamente. Starlene se levantou e se pôs entre os garotos. — Jesus disse para oferecer a outra face.
— A outra alface? — interveio Freeman provocando risadas nos outros jovens, até Deke e, por último, Raymond.
Starlene deu um suspiro. Piadas sujas e sacrilégio. As coisas ficariam muito interessantes com Freeman por perto. Isso sem falar no fantasma do abrigo.
O bom de duvidar da própria sanidade é que pode-se morrer de qualquer coisa, menos de tédio.
CAPÍTULO 11
Bondurant não acreditava em fantasma. Nenhum homem são — ou religioso — acredita. Porém, o incidente com Starlene no lago era o terceiro desse tipo nas últimas semanas. Todas as três pessoas disseram ter visto um homem de camisolão cinza.
O primeiro relato foi de um auxiliar de cozinha, um escocês-irlandês enrugado cuja família era dona das terras onde Wendover fora construída na década de 1930. O homem disse que o fantasma estava vestido exatamente como os pacientes que cambaleavam por esses corredores quando Wendover era um hospital público psiquiátrico durante a Segunda Guerra. Ele era um garoto naquela época e, quando Bondurant o entrevistara, o homem esboçara um medo pueril que instilava os olhos do homem. Bondurant o classificara como um caipira supersticioso.
O segundo relatório era de Nanny Hartwig, uma conselheira que trabalhara em Wendover por oito anos. Nanny tinha um tipo confiável daquelas mulheres robustas, lentas e de uma paciência bovina. Ela nunca se deixara abalar pelas crianças, mesmo quando lhe jogavam comida, xingavam ou cuspiam. Nanny conseguia dar o bote e segurar uma criança com a perfeição coreografada de um movimento de luta livre profissional.
Um dia, ela aparece para começar seu turno de três dias como supervisora e desapareceu. Os outros conselheiros notaram seu desaparecimento e a acharam muitas horas depois, no emaranhado de um armário de depósito, segurando um cabo de rodo com tanta força que as juntas dos dedos estavam brancas. Nanny falava coisas sem nexo sobre um homem de capuz que viera em sua direção. Bondurant lhe deu duas semanas de folga e a dica de que seria bom ela fazer terapia. Numa igreja, não numa clínica.
Essa última visão, com Starlene hoje, era a pior — Bondurant achava que a terceira vez já era feitiço. A terceira vez conotava que as visões não poderiam ser descritas como imaginação ou bebedeira, uma vez que Starlene era uma cristã de boa cepa. Bondurant conseguia mentir para o Conselho Administrativo, dar corda nas instituições de apoio financeiro públicas e privadas e até bajular o Departamento de Assistência Social se preciso fosse, mas abafar rumores entre os funcionários, para ele, seria tapar o sol com a peneira.
Ele considerara abordar Kracowski acerca das visões — o médico tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Normalmente o médico abriria um dos seus periódicos, faria a impressora cuspir alguns gráficos e Bondurant ficaria lá aturdido e perplexo com tantas terminologias e fórmulas. Bondurant, porém, sempre buscava conforto no jeito confiante do médico. A absoluta falta de humildade que tornava Kracowski tão irritante também conferia credibilidade às suas explicações.
Bondurant se reclinou na cadeira. Sua sala estava em silêncio, exceto pelo leve tique-taque do relógio em vias de posicionar seu ponteiro menor no nove. A escuridão pintava as janelas e pontos estrelados pendiam sobre as negras montanhas da paisagem. As crianças estavam já se preparando para as orações noturnas — meninos no Salão Azul, meninas no Salão Verde. Com exceção dos conselheiros em serviço e da faxineira da noite, toda a equipe se fora ou para os chalés da propriedade, ou para Deer Valley, além dos muros de Wendover.
Bondurant abriu a última gaveta da escrivaninha. Lá estava sua Bíblia, sua palmatória de madeira e um saco de veludo roxo. Ele tirou o saco de veludo. Uísque canadense. O primeiro trago cortou-lhe a língua e a garganta; o segundo queimou; o terceiro aqueceu tanto o homem que ele tremeu.
Alguém bateu na porta.
Bondurant trocou a garrafa pelo Livro Sagrado, fechou a gaveta e abriu a Bíblia num capítulo qualquer. O Livro de Jó. Era um de seus favoritos, com sofrimento e um Satanás incontrito, e um dia ele ainda daria um jeito de entendê-lo. Isso e a maldita parábola dos peixes.
— Entre — disse.
Nada. Ele apertou o botão do viva-voz. A sala da recepcionista ficava destrancada no fim do dia caso alguém da equipe precisasse consultar o prontuário de algum paciente.
— Alô? — tentou, ouvindo algo como a amplificação de sua voz em eco na outra sala.
Também nada.
Bondurant se levantou, irritado por ter de abrir ele próprio a porta da sala. Ele escancarou a porta. Ninguém.
Ele atravessou a sala da recepcionista e verificou o corredor. Lá, na esquina obscura que dava no refeitório, uma sombra se moveu por entre a escuridão. Um dos garotos deve ter fugido sorrateiramente do Salão Azul, provavelmente para surrupiar algum quitute da cozinha.
— Ei, você — disse Bondurant, mantendo o tom de voz. Mesmo que ele estivesse nervoso, deveria fingir calma, senão acabaria arrastando o pecadorzinho pelas orelhas até o pirralho chorar, ou curvar as garotas sobre a mesa dele para aplicar a punição da palmatória nelas...
Bondurant engoliu seco. A pessoa parou, imiscuindo-se às sombras. O corredor quieto, com o ar parado e pesado. Bondurant sentiu os pulmões como se cheios de vidro.
— Você aí, não deveria estar se preparando para o apagar das luzes e para a hora de dormir? — Perguntou Bondurant, dando um ou dois passos.
O vulto se agachou na escuridão. Bondurant praguejou contra a falta de iluminação no corredor. O orçamento parecia nunca ser o suficiente para atender a todas as necessidades do lugar, embora os custos administrativos aumentassem constantemente, assim como o salário de Bondurant.
À medida que se aproximava, Bondurant percebeu que o vulto era grande demais para ser de um dos internos. Será que um dos funcionários estava perambulando pelos corredores à noite? Os supervisores deveriam ficar com as crianças, atuando simultaneamente como guardiães e carcereiros. A faxineira àquela hora deveria estar limpando os banheiros nos vestiários dos meninos, seguindo a mesma programação desde quando Bondurant se tornara diretor. Talvez fosse um dos apoiadores do Kracowski, um daqueles tipos frios e safados que agiam como se não precisassem de permissão nem de aprovação.
— Com licença, o senhor notou que já passam das nove? — Bondurant viu que a pessoa era roliça e atarracada, empardecida pela meia-luz. Nanny? Será que a obstinação dela a fez vir aqui para provar que de fato vira algo que não existe?
— Vai ficar tudo bem. — Quisera Bondurant ter estudado psicologia nesse momento, porque ele parecia mais um policial de seriado de TV tentando dissuadir um suicida de pular do alto de um prédio. Ele estendeu a mão e se estendeu para além dos seis metros que os separavam. E se ela pirou de vez e fizer alguma coisa louca, como mordê-lo?
— Pronto, pode me contar o que aconteceu — disse ele.
Quatro metros e ele ainda não tinha certeza se a pessoa era mesmo a Nanny. Três metros e ele ainda tinha dúvida, embora tivesse certeza de que era uma mulher.
Ela estava abaixadinha virada para o canto, com soluços que lhe estremeciam os ombros. No entanto, ela não emitia nenhum som. Ela estava envelhecida, cabelos grisalhos e embaraçados, com as pernas abertas sob a bainha do vestido amarrado nas costas desajeitadamente com três cordinhas. A pele que ele conseguia ver era cheia de pintas. A mulher estava ajoelhada, sentada sobre os pés largos e cascudos.
Bondurant hesitou. Talvez fosse melhor chamar um dos supervisores ou ligar para a polícia. A polícia sempre reclamou das fugas de Wendover e das ligações pedindo segurança adicional. Só que dessa vez era diferente: os moleques fugiam sempre, mas qual adulto fugiria para Wendover?
Antes que Bondurant se decidisse, a mulher se virou.
Bondurant teria gritado se seus reflexos não estivessem diminuídos pela ação da bebida. Como o rosto da mulher estava contorcido, um dos cantos da boca estava em ricto e o outro estava curvado num sorriso paralisado. As pálpebras dela desceram e a língua se movia na boca como um verme inchado. O que Bondurant achou serem soluços agora pareciam mais umas convulsões: a cabeça da mulher tremia entre os ombros como se estivesse conectada ao corpo por uma mola de metal.
O pior de se ver era a enorme cicatriz que a mulher apresentava na testa, um vergão furioso de carne que se via entre as rugas da pele. A cicatriz era como um sorriso maligno horrendo acima da boca distorcida, dos olhos em meia-lua. A mulher esticou os braços trêmulos. A língua se espichou como algo separado do rosto, como se estivesse num ninho dentro dela e tivesse acabado de despertar de longa hibernação. Os lábios se tangiam escabrosamente, como se ela bocejasse e fechasse a boca num espasmo.
Meu Deus, ela está tentando FALAR.
Bondurant involuntariamente deu um passo para trás, forçando o peito a inspirar novamente. Uma bile ácida lhe queimou a garganta, como num ataque de azia. Ele teria corrido em fuga se as pernas não estivessem rígidas como concreto. A mulher se projetou para frente sobre os joelhos com uma baba translúcida pendendo do queixo retorto. O vestido surrado se drapejava em volta dela como um enorme xale.
Seus lábios tremeram de novo, a língua se remexeu como verme de novo, mas não produziu som algum.
Bondurant gritou pedindo ajuda, mas ele não conseguia inflar os pulmões com o ar suficiente para que o grito fosse além da esquina do corredor. Bondurant desistiu de pedir assistência mortal e invocou poderes superiores.
Ele se lembrou da fábula do Bom Samaritano e de como ele ajudou Jesus ao longo da estrada. Ou talvez não fosse Jesus, talvez fosse outra pessoa, ou Jesus era o que estava ajudando. Bondurant estava confuso acerca dos detalhes, mas o resumo da história era que um cristão estendeu a mão para quem estava em dificuldades — mesmo que fosse um caso perdido de perversão que por desgosto o próprio diabo tivesse ejetado do lago de fogo.
— Pronto, tudo bem — disse Bondurant com um volume de voz pouco acima de um sussurro. — Como você se chama?
De novo os lábios se ondularam e a língua sinuosa passou espremida entre os dentes, mas sem dizer uma palavra. A mulher levantou uma pálpebra e Bondurant viu o olho aberto, tão escuro como um poço sem fundo.
— Deixe-me ajudá-la — disse-lhe.
Ele fechou os olhos e tentou pegar as mãos dela. Sentiu um vento frio passar por ele, fazendo-o abrir os olhos num estalo.
A senhora se levantou diante dele com os braços levantados.
A mulher levou as mãos à face, recurvando-as em garras e começou a revolver com elas os olhos. No frenesi, o vestido ficou solto e deixou à mostra um dos pálidos ombros na penumbra.
A boca da mulher estava aberta, com a língua se debatendo lá dentro, com os dedos puxando a pele das pálpebras. Bondurant nada podia fazer além de olhar fixamente, dizendo a si mesmo que não era real e que Jesus e Deus nunca permitiriam algo assim dentro do sagrado espaço de Wendover.
Atravessando todo aquele medo, ele já estava pensando nos panos quentes, planejando a história que contaria às autoridades do lugar.
Ela invadiu o lugar e tentei impedi-la. Não, eu nunca a vi na vida...
O vestido da mulher desceu um pouco abaixo dos ombros e Bondurant viu no peito dela com outras cicatrizes que se entrecruzavam. Ela, com os dedos em garra ainda a lhe apalpar o rosto, a carne cedeu caminho por debaixo das unhas. Os lábios tremiam como se prestes a gerar um grito, mas nada além de silêncio saia-lhe da garganta.
Bondurant fora treinado para lidar com pacientes agressivos. Ele conhecia uma dezena de técnicas diferentes de contenção, desde o abraço constritor até o nó duplo. Se pelo menos ele conseguisse pegá-la, dar a volta com os braços por trás dela, aí...
Aí era só esperar que ela se cansasse ou que chegasse alguma ajuda.
Ele tentou alcançar os cotovelos dela, mas voltou de mãos vazias. Ela estava se afastando dele, recuando em direção à sombra. Ainda assim, ele viu que ela não estava fugindo.
Ela estava flutuando, com os dedões obscenamente inchados acima do piso.
A boca deformada vomitava seu grito silente enquanto ela continuava a revolver os olhos.
Pouco antes de ela desaparecer na parede, a cicatriz da testa se curvou para cima, como se desse a Bondurant um sorriso de despedida.
CAPÍTULO 12
Freeman estava sonhando com a fazenda dos seus avós já falecidos, quarenta e cinco hectares de mata em terreno pouco plano, com vales cheios de gado e um riacho de água esperta que serpenteava seu interior. Ele estava no jardim perto do celeiro, com cheiro de tabaco curtindo, esterco e pó de feno trazido pelo ar morno de verão. Em volta dele, largas folhas dos pés de abobrinha e gavinhas dos feijoeiros. Ele enfiou a pá na terra escura, revelando as minhocas do chão.
Inclinou a pá e as minhocas saíam, pegajosas e grossas como lápis. Enfiou de novo a lâmina da pá na terra e o chão rebaixou, virando um enorme buraco preto. Uma minhoca monstruosa apareceu, brilhando de muco, apontando a cabeça pontuda e cega para o céu. O invertebrado continuou a se distender, chegando à circunferência de uma seringueira.
De repente o bicho ficou com cem braços e uma boca negra se formou: — Ô, cérebro de merda, que é que você tá fazendo quando eu preciso de você?
A ponta do bicho tinha a cabeça do pai dele e Freeman lutava contra a manta no catre enquanto os mil tentáculos da minhoca o agarravam, estrangulavam-no, desferiam-lhe tapas e, o pior, o abraçavam...
— Psst. Ei, novato. Freeman.
Freeman se retraiu, gritou, os raios de sol do sonho se transformaram em quatro paredes de sombra e o pai-minhoca ainda o apertava.
— Opa, cara. Vai com calma.
Freeman gemeu e abriu os olhos. Na luz tíbia do Salão Azul, ele reconheceu a cara do garoto de olhos verde-musgo. Isaac, da terapia de grupo. O garoto o estava sacudindo.
— Você deve ter tido um pesadelo — Isaac sussurrou alto. Ele soltou Freeman e se ajoelhou ao lado do catre.
Freeman piscava na escuridão, com o coração a mil. Nem mesmo entre grossas paredes de pedra ele conseguia escapar do imbecil do pai dele. A figura do pai estava dentro do cérebro dele, como um verme num cadáver, quer estivesse dormindo ou acordado. — Obrigado — disse enxugando o suor da testa.
— Você estava chutando o ar. Quase quebrou meu braço.
— Eu ia me desvencilhar. Tenho muita prática nisso.
— E quem não tem? Ou você se safa, ou não vamos ver você por aí muito tempo. Você sabe como eles são.
O Salão Azul estava bem quieto. Na outra extremidade da fileira de catres, dois garotos conversavam. Devia ser umas onze horas da noite ou três da madrugada. — Onde estão os supervisores?
Isaac bufou. — Devem estar trocando uns beijos por aí. Eles ficam muito quietos depois do apagar das luzes.
Freeman baixou o tom de voz. — E Deke?
Ele imaginou que Deke importunasse os menores à noite, talvez até os molestasse. O pensamento o enojou tanto quanto o pesadelo que tivera.
— O líder valentão? Escuta só.
Entre os sons da agitação noturna e da conversinha, um ruído ia e vinha ritmicamente.
— É ele roncando — explicou Isaac. — Está em sono profundo. À noite, sempre dá pra saber onde ele está. Ah, então, eu sou o Isaac.
— Eu sei. Como na Bíblia. Você já se sacrificou?
— Não que eu saiba. Você imagina como é difícil pra um judeu aguentar toda essa baboseira cristã?
— Posso imaginar. Mas, se você é igual a mim, aprende a fingir bem rapidinho. Nos abrigos em que passei, aprendi que os crentes passam menos dificuldade e conseguem uma comida melhor também.
— Droga. Você é judeu também?
— Não, mas eu bem que poderia ser. Não tenho nada de especial.
— Os judeus não confiam nos filhos fora de uma família judaica. Quando fiquei órfão, meus tios e minhas tias tentaram ficar com a minha guarda, mas os psicólogos não deixaram porque, juro por Deus, nem eu confio nos judeus. É, eles são meio esquisitos às vezes.
A porta principal se abriu num rangido. — Ei, hora de dormir aí — alertou uma voz de adulto. Um feixe de lanterna cortou o ar vindo de algum lugar e percorreu a fileira de catres.
Isaac colocou o rosto perto do de Freeman e sussurrou: — Nazistas.
— Ah, os pais da psiquiatria moderna — comentou Freeman. — Você sabe que foi assim que os alemães começaram a tomar gosto pelo genocídio, apagando gente louca na década de 1930. Depois eles começaram a exterminar os homossexuais.
— Ué, achei que tinham sido os judeus primeiro.
— Nada. Eles já faziam essas coisas antes do Hitler. Enquanto isso, esses médicos ficavam enrolando os bigodes e falavam que estavam prestando um serviço à sociedade tirando os indesejáveis dessa vida de sofrimento.
— Aposto que alguns desses médicos eram judeus — sussurrou Isaac.
— Bom, Isaac, você apresenta um exemplo acadêmico clássico de “paranoia”.
— Parece um psicólogo falando.
— Não, eu sou mais esperto que a maioria dos psicólogos que me atenderam — disse Freeman. — Sempre analise os psicólogos até que eles fiquem menores que você. É a minha filosofia.
— Aposto que você tem um monte de filosofias.
— Muda com o tempo.
— E você é o quê? — perguntou Isaac. — PMD? Depressivo? Esquizo-? Sócio-?
— PMD com cobertura de chocolate. Pelo menos é o que diz meu prontuário. E você, o que tem?
— Demônios. Demoninhos judeus com ganchos no lugar dos dedos. Não consigo me livrar deles. — Isaac deu de ombros como se um desses demônios invisíveis estivesse pousado em suas costas.
— Você devia falar isso com um médico.
— Nem vou. Eles só dizem que eu tenho é que aceitar Jesus como meu salvador pra ficar curado. Isso só ia aquietar os demônios um pouco. Mas não ia adiantar muito.
Eles ficaram quietos por um momento. O ronco do Deke cortava o ar parado e parava quando ele rolava na cama, que o retomava ritmadamente. Um dos caras numa cama próxima soltou um pum durante o sono e Freeman deu um risinho contido.
— Quando tem feijão na janta, fica difícil aguentar — comentou Isaac.
— Pra você ver que não é só judeu que vai pra câmara de gás.
Eles riram contidamente. Isaac disse: — Foi um passe de mestre o que você fez com o livro hoje. Estou aqui há dois anos e é a primeira vez que alguém enfrenta o Deke.
— Eu não enfrentei, só deixei o cara confuso.
— Ah, isso não é difícil, concordo. Mas você correu o risco de ele quebrar a tua cara. Fica de olho nele. Não custa nada pra ele querer mostrar pros outros que você não ganha dele.
— Fico me corroendo por dentro quando vejo ele tirando sarro dos menores. Qual é o lance com o Fraldinha?
— Não deve ser fácil ficar crescido o bastante pra trocar a própria fralda. Alguém, alguma coisa, deve ter pirado ele um tanto. Acho que ele não falaria sobre isso.
— É isso aí, bem-vindo à turma — disse Freeman. — Todos nós somos crianças diferentes, excepcionais. Os desajustados. Os retardados que a sociedade não quer ver nem saber que existem.
A porta do Salão Azul se abriu novamente, fazendo vazar a claridade do corredor. Um supervisor entrou no dormitório, seguindo o feixe da lanterna por entre as fileiras de catres. Isaac escorregou para debaixo da cama ao lado de Freeman, depois passou para seu catre. Isaac estava sob a coberta na hora em que a luz da lanterna passou sobre ele.
— Estava sonâmbulo de novo, Isaac? — perguntou o supervisor Allen.
Isaac se sentou e esfregou os olhos. — Eles têm dedos pontudos — murmurou ele.
Freeman teve que morder a bainha da coberta para não rir alto nessa hora.
— Bom, tente ficar quietinho — disse-lhe o supervisor. Ele era magro, com um corte de cabelo e uma colônia tão forte que Freeman sentia o perfume dele mais forte que o cheiro persistente da flatulência. A voz do homem era afeminada e aguda. — Os outros garotos têm que dormir.
— Claro, Phil — disse Isaac rolando o rosto para o meio do travesseiro. Ele disse algo que se perdeu no espaço entre as camas.
A luz cruzou o dormitório e ficou um momento sobre Freeman. Ele apertou os olhos e se concentrou para respirar uniformemente. A luz passou e Freeman ficou escutando os passos se distanciarem e a porta fechar.
— Nar... nar... narcolepsia! — exclamou Isaac, imitando um espirro.
— Transtorno do sono fingido — disse Freeman. — Essa foi boa. Se você já não tivesse inventado, eu bem que podia ter agregado ao meu repertório.
— Ah, eu consigo fingir que estou caindo de sono sempre que um psicólogo fica me perguntando do meu desamparo superficial. Mas quem é maníaco depressivo consegue pensar em todas as saídas. Nada como ficar oscilando entre um e outro.
— E ainda tem os dias em que fica entre um e outro. Às vezes horas. Meu ciclo é rápido. Pra cima e pra baixo mais rápido que um elevador.
— Cala essa boca — projetou-se bruscamente uma voz no final do dormitório.
Freeman ergueu o dedo médio na penumbra e meteu-se nas cobertas. Pelo menos ele conseguira um aliado. Uma coisa que ele aprendera nos abrigos: é preciso fazer aliados para superar as dificuldades, contanto que não se tornem um estorvo. Nem um solitário consegue fazê-lo sozinho e, às vezes, um aliado acaba levando o tiro em seu lugar. Verdade nos filmes, talvez fosse verdade no mundo real. Um dia Freeman talvez descubra.
Ele, contudo, teria de sobreviver àquela noite e aos sonhos que ela traz.
Sonhos...
Qual seria o próximo?
Papai como uma baleia gigante com Freeman numa canoa em um mar sereno? Nesse, uma tempestade sempre se forma quando papai aparece; o céu fica vermelho com relâmpagos cor de sangue e o vento grita como mil gaivotas agonizantes numa monstruosa mão de espuma. A baleia abre a boca, que engole tudo até se tornar um enorme abismo negro e, além dele, uma noite eterna...
Não, esse não. Freeman esperava não ter esse sonho de novo.
Menos pior era aquele em que o pai era um dos quatro cavaleiros do apocalipse, vestindo uma capa que recobria tão somente ossos e pestilência. Papai com os olhos amarelos fluorescentes sob o capuz. Papai com longas garras empunhando uma foice brilhante para ceifar Freeman, que corria num prado com mato até o joelho, até que a própria vegetação se tornava um inimigo, puxando-o, sugando-o para baixo...
Não. Esse também não.
Pense em outra coisa.
E ele pensou na mamãe, mas toda vez que ele pensava nela, só conseguia ver uma coisa: a banheira com a cortina rajada de vermelho e...
PENSE EM OUTRA COISA.
Mentalmente ele percorreu todas as possíveis distrações. Um festival mental de cinema, Pacino e De Niro em Fogo contra fogo. Desenhos animados do tipo faça-você-mesmo, aqueles montados no pensamento, em que os palhaços são alegres e os sorrisos pintados não ocultam dentes. Música imaginária, em que as notas se sustentam gordas no ar e dá até para jogá-las para lá e para cá como bexigas.
No seu estado maníaco, ele regia sinfonias inteiras, dividia cada peça musical em sua orquestra imaginária, executava pulsantes crescendos de ar e de cor. Era até bom porque, quando ele estava nessa fase, não conseguia dormir. Quando, porém, deslizava pelo túnel cerebral até a depressão, ele também não conseguia dormir.
Nesse momento, num estado intermediário, bastava evitar os pesadelos e ele conseguia desligar o cérebro por um tempo. Os remédios faziam a cabeça coçar e a manta era áspera. Eles começaram a ministrar-lhe outro medicamento, divalproato, que em alguns aspectos era melhor que o lítio, mas também provocava um novo grupo de efeitos colaterais.
Porém, nenhum efeito colateral era pior que os causados pelos experimentos do pai.
Como o triptrap.
Era ruim quando o pai o colocava num armário e o fazia ler as cartas, mantendo-as escondidas até que Freeman acertasse se eram estrelas, triângulos ou linhas onduladas. Freeman, no entanto, não adivinhava: ele conseguia ver as cartas como se as estivessem vendo pelos olhos do pai.
A primeira vez em que aconteceu foi assustador: ele viu as palavras “Três Carneirinhos” surgirem no pensamento por nenhum motivo aparente, com o pai sentado do outro lado da garagem que ele transformara em escritório.
— Três carneirinhos? — dissera Freeman em voz alta. — Os da historinha?
— Isso. O que estamos fazendo, Freeman, é quando os carneirinhos vão fazendo triptrap na ponte. Eu estou de um lado da ponte e você está do outro; aí você vem atravessando, trip-trap, trip-trap, trip-trap, sem deixar o lobo saber o que você está pensando. E sabe o que acontece se ele ouvir você?
Freeman balançou a cabeça de um lado para o outro e o pai pulou na frente dele, agarrou-o pelos cabelos e encostou a boca contra o ouvido de Freeman. Ele cuspiu as palavras como balas de revólver. — Porque... ele... vai... DEVORAR... seu... cérebro... de... MERDA.
Largou os cabelos de Freeman, deu-lhe um tapa na testa e disse: — Isso é segredo nosso, certo, soldado? Já tive gente arfando no meu pescoço de tal forma que o lobo da historinha ia parecer mais a Chapeuzinho Vermelho. Você tem que se empenhar comigo nessa. Vai doer um pouco, é difícil, mas prometo que no final tudo vai ficar bem.
O pai ficou mais sinistro a partir de então, dando choques elétricos em Freeman, dizendo-lhe que a dor era para o bem dele porque deixava a mente mais pura e aberta. Ele também espetava agulhas em Freeman e aplicava a ponta de um maçarico e o trancava no armário por períodos progressivamente mais longos, e até fazia joguinhos com a mãe de Freeman porque ela nada fazia para impedir os experimentos.
No armário, com o zumbido das máquinas doidas do pai funcionando, Freeman conseguia fazer picpoc na cabeça do pai e gritava, gritava, porque os pensamentos dele não eram nada bons. O pai, por sua vez, estava tentando colocar pensamentos na cabeça de Freeman, coisas que não entendia e que para ele não faziam sentido algum. Foi assim que ele soube o que era a Fundação e por que o pai tinha tanto medo.
Logo depois disso a mãe morreu e todas aquelas pessoas estranhas da Fundação apareceram, levaram embora o equipamento do pai e arrastaram-no para a delegacia de polícia. Freeman ficou sob guarda tutelar do Estado e foi inserido no sistema de adoção. Ele ficou anos sem fazer pic-poc, até que o dom se manifestou de novo, como se fora um monstro horrendo hibernando na base do crânio.
Alguns dos vislumbres telepáticos eram passageiros, outros eram robustos e arrebatadores, alguns eram prazerosos e outros eram negros como a noite. Ele praticou até que conseguisse controlar minimamente a habilidade — ele tinha medo do lobo, embora nunca tivesse descobrido o que o pai tentou definir. Talvez fosse o medo, um bicho grande e preto que morava lá dentro. Embora tivesse tentado sepultar esse dom, esperando que a indiferença o fizesse desaparecer, ele nunca conseguira se livrar dele de vez.
Na verdade, ele não estava certo se queria ou não abrir mão dele. Ainda que às vezes fosse um tanto bizarro, era legar ler a mente dos outros — o que ajudava em muito sua capacidade de sobrevivência. Ele conseguiu até definir pessoas que devia evitar e pessoas que lhe rendiam segredos úteis.
No momento, porém ele estava cansado e precisava se desligar um pouco. Pensar em trip-trap o fazia lembrar-se do pai — lembranças que podiam matar.
Por isso, essa noite, seria música ou outro assunto que lhe ocupasse a cabeça.
E o assunto vencedor era Vicky: ele pensou nela até que o sono o puxasse para debaixo da escuridão dos lençóis.
CAPÍTULO 13
Bondurant esfregou os olhos. Suas mãos tremiam e os dedos se mexiam como cobras cegas. A luz estava fraca e ele podia fingir que a manhã finalmente despontara. A garrafa de uísque tilintou contra a cerâmica enquanto ele tacava um pouco de amnésia líquida na caneca.
A porta da sala se abriu e Bondurant ficou petrificado na cadeira, esperando que alguém batesse na porta. Dessa vez, ele não responderia — talvez nunca mais. Se alguém ou alguma coisa quisesse vê-lo, seria preciso arrombar a porta — ou passar por ela.
Ele ouviu o burburinho familiar da Srta. Walters, os bipes enquanto ela ouvia os recados na secretária eletrônica e o abrir e fechar de gavetas na mesa dela. Sons cotidianos que marcavam o início de outro dia. O cheiro penetrante de café se infiltrava pela fresta entre a porta e o chão. Bondurant passou o punho da manga na boca e, titubeante, se levantou da cadeira.
Cambaleou até a porta e bateu. Era um comportamento incomum, bater pelo lado de dentro, mas Bondurant apreciava o peso considerável do carvalho entre as juntas dos dedos. Todas as coisas reais e sólidas deviam ser apreciadas.
— Srta. Walters? — A voz lhe pareceu sair de uma boca com bolas de algodão enfiadas entre os dentes e as bochechas.
A porta se abriu em uma fresta e, por um momento, Bondurant temeu que a mulher desaparecida da noite anterior o estivesse aguardando com um sorriso na cicatriz da testa.
Lá, porém, estava a Srta. Walters, sob o monótono cardigã que ela vestia às quintas-feiras. Ela olhou para ele, fungou e assentiu com a cabeça como se estivesse relutante em adquirir mais detalhes. — Bom dia, Sr. Bondurant. Chegou cedo.
— Ahm... Tem algum compromisso agendado?
— Só depois das dez. O senhor e o Dr. Kracowski estão marcados para uma reunião na Sala Doze. Alguns membros da diretoria estarão aqui de visita.
— Membros da diretoria — aprumou-se Bondurant.
Eram ao todo nove, todos de uma boa e branca linhagem de protestantes; sete deles eram homens. Os diretores se reuniam a cada três meses e a ordem dos negócios consistia grandemente em tapinhas nas costas autoenaltecedores seguidos de uma lauta refeição dedutível do imposto. De vez em quando, alguns dos diretores sentiam a necessidade de ver os clientes em primeira mão para assumir expressões de piedade adequadas ao mendigar dinheiro para doações de dinheiro.
L. Stephen McKaye e Robert Brooks eram dois dos diretores mais sinceros e ocasionalmente votavam contra a maioria nas decisões políticas. Eles não se deixavam enganar assim tão facilmente. Bondurant foi direto na cafeteira. Ele tinha uma missão, um papel a desempenhar, negócios, como sempre. Ele teria de se colocar num estado de alerta artificial.
— A senhorita não viu alguém por aí? — perguntou ele.
A Srta. Walters se sentou à mesa e deu uma olhada na correspondência do dia anterior. — O senhor sabe quem?
— Uma mulher, talvez uma governanta terceirizada? Cabelos grisalhos, meio curvada, com uma cicatriz no rosto, mais velha que a senhorita.
— Mais velha do que eu? — alvoroçou-se, mexendo num botão do casaco.
— Não tome isso como um insulto.
— Não vi ninguém. A menos que uma múmia de 3 mil anos tivesse saído do sarcófago.
Bondurant engoliu uma golada de café. — Ela vestia um camisolão cinza meio sujo.
— Pela descrição, ela poderia ser daqui mesmo. — Os olhos dela passaram pelo terno amarrotado de Bondurant.
— Se houver outros compromissos, avise-me. Hoje é quinta-feira, não é?
— Pelo que me conste, até a meia-noite, sim. O senhor sabe como é: gente velha como eu costuma confundir as coisas.
Bondurant cerrou os olhos e se aprumou apoiando-se na mesa dela. Ele sabia fingir. Era só se concentrar na pulsação lhe martelando as têmporas e ele quase conseguia se esquecer que vira uma mulher desaparecer.
Ele já simulara coisas piores, como os relatórios do incidente que chegaram às autoridades depois de uns dois “tratamentos” do Kracowski. Oficialmente, para um dos pacientes, ele alegou perda de inconsciência após uma autoasfixia e para outro um ataque de asma. Nos dois casos, conclusões após uma “extensa investigação interna”. Se ele conseguiu passar esses relatórios pelo Conselho Estadual de Assistência Social, ele conseguiria fingir sobriedade diante de dois dos diretores.
Ele também conseguiria se enganar quanto a existência ou inexistência de fantasmas.
— O senhor quer que eu faça mais? — perguntou a Srta. Walters.
Ele abriu os olhos. — Desculpe, é só uma dor de cabeça.
Os dois sabiam muito bem, mas estavam igualmente bem treinados para fingir.
Pelo menos a Treze tinha uma janela na porta; não era o lugar ideal para enfurnar um claustrofóbico, mas pelo menos era possível se mexer um pouco lá dentro. Freeman já estivera em situação pior. Nem o espelho da parede o incomodou. Todos os abrigos tinham essas “salas de intervalo” com espelhos bidirecionais.
Não dá para se divertir com um inseto numa garrafa se não for possível vê-lo tentando sair.
Randy aparecera no meio da aula de literatura e redação, justo quando o cérebro de Freeman quase escorria pelas orelhas de tanto tédio do Herman Melville. Randy disse alguma coisa ao professor e acompanhou Freeman pelo corredor estreito até a Treze, digitou uns números na fechadura eletrônica da porta e o fez sentar-se no catre. Randy desabotoou a camisa de Freeman e aplicou-lhe eletrodos no peito e nas têmporas. Freeman não se preocupou, afinal não se aplicava mais eletrochoque em crianças — provavelmente eram para monitorar a frequência cardíaca e medir a reação ao estresse e ao medo.
Ele ficou tranquilo até mesmo quando Randy o deitou no catre e apertou as tiras de couro no tórax e na cintura. Quando o pai lhe aplicava os tratamentos, geralmente ele inseria uma ripa de madeira na boca para ele não morder a língua. Sem madeira, sem choque: ele sabia que não haveria problema quanto a isso. Ele fitava o espelho tranquilo e relaxado enquanto Randy saía da sala.
Sem dúvida havia alguém do outro lado do espelho, tomando nota das reações dele.
Ele deixou os joelhos se contorcerem um pouco e provocou um movimento espasmódico das sobrancelhas — assim quem estivesse registrando pensaria tratar-se de síndrome de Tourette. Ele conhecera quem sofresse dessa síndrome e o distúrbio era uma merda, mas pelo menos dava para sair cuspindo e xingando a esmo.
A trapaça não foi muito longe. O dia nascera nublado e Freeman sentira o peso do céu sobre si antes mesmo de rolar para fora da cama. Vestir-se fora um esforço, mesmo com Isaac fazendo aquela cara de narcolepsia, piscando de olho fechado e um ronco soprado como se peidasse pela boca. Freeman estava indo da zona intermediária para a zona cinza e provavelmente o elevador rapidamente chegaria ao fundo do Porão Tenebroso.
Tudo culpa dos neurotransmissores. Os psiquiatras diziam que essas alternâncias de humor eram causadas pela falta de serotonina, que não conseguia se autorregular no cérebro. Amor e chocolate, diziam eles, davam o mesmo tipo de barato. Sobre amor ele não sabia muito, mas reconhecia o valor de uma barra de chocolate dentro de um abrigo de menores.
No entanto, ele nunca ouvira falar que qualquer um dos dois conferisse poderes de ler pensamentos — a não ser a mãe, que parecia saber o que o pai diria antes de o dizer e sempre lembrava o pai de que tinha esse poder. Talvez fosse por isso que a mãe estivesse morta e Freeman estivesse sentado sob a lupa de um psiquiatra enquanto o pai estava quicando numa sala acolchoada em algum lugar por aí.
Essa linha de pensamento, porém, não ajudaria em nada na luta contra a depressão que se aproximava. Qualquer que fosse o livro acadêmico que o psiquiatra usasse como referência, não havia escapatória da ideia de que a depressão era culpa do deprimido, que ele por algum motivo não conseguia “fazer-se feliz”. Esse argumento era uma serpente devorando o próprio rabo porque, assim, só resta ao paciente sofrer por não conseguir consertar nele mesmo o que nele há de errado. Culpado; motivo: autoconsciência.
— Por que me culpar? — perguntou em voz alta. Uma abertura de ventilação no teto sem dúvida ocultava um microfone. Esses caras eram bem espertos e tinham todas as táticas de espionagem mental. Sem dúvida a Fundação tinha um informante no lugar. Eles podiam abrir uma rede de terapia drive-through: era só parar o carro na janelinha, cuspir uma lista de sintomas e receber uma filipeta de papel na hora de pagar.
A filipeta podia conter chavões tipo biscoito da sorte chinês, tipo “A verdade está dentro de você” ou “A jornada de mil léguas começa com um simples passo”.
Dava até para oferecer acompanhamento de batatas fritas ou uma água benta para receber batismo ou hóstia para comunhão instantânea...
— Quem mais há para se culpar, Freeman?
Os olhos de Freeman tremeram de novo, dessa vez involuntariamente. A voz amplificada com certeza viera de alguém atrás do espelho. Freeman desejou que estivesse positivo e operante para fazer triptrap em quem estivesse oculto para cortar o mal pela raiz.
— Eu não culpo a mim mesmo — respondeu Freeman.
— Como é? — interrogou a voz masculina.
— Só estava pensando que a pessoa que está falando deve estar me observando por detrás do espelho bidirecional. Com certeza eu não estou falando sozinho.
— Transtorno dissociativo de identidade não é o seu eixo de diagnóstico.
A voz era metálica e clínica e a transferência entre a captação eletrônica e os alto-falantes tiravam-lhe a confiabilidade — não que Freeman fosse confiar em algum momento.
— Nunca me analisaram assim, só cara a cara — disse ele.
— Bem, você nunca foi tratado por mim. Isso é bem óbvio, uma vez que você ainda tem problemas.
— O senhor tem muita autoconfiança, né?
— O sucesso traz confiança, Sr. Mills. Você vai aprender isso nas nossas sessões, uma vez que você está em vias de ficar curado.
— A terapia é uma via de mão dupla. — Freeman não ia deixar barato para esse cara metido a cientista.
— É só prestar atenção nas rampas de saída.
— Além do cagaço de ficar cara a cara com os seus pacientes, suas metáforas são totalmente esfarrapadas.
Fez-se silêncio na sala e desligaram o microfone. Freeman fez umas caretas no espelho enquanto aguardava. O olhar de soslaio do Clint Eastwood funcionava bem nas pessoas comuns, mas os psiquiatras precisavam de algo a mais — talvez o melhor desempenho de Al Pacino em Scarface ou Kiefer Sutherland em praticamente qualquer personagem.
Pouco depois a voz falou de novo: — Está pronto para falar sobre isso?
Isso:
Freeman odiava a palavra, ao menos quando a pessoa fazia questão de enfatizá-la. Para as sessões de Freeman, “isso” significava uma coisa: a longa cicatriz no pulso.
Nesse momento, com a depressão afundando e o psiquiatra tentando essa coisa nova, Freeman quase contou tudo sobre “isso” — sobre o pai e o maçarico, ou o pai e o vidro esmerilhado, ou o pai e a eletricidade, ou o pai e o filho-da-puta do lobo que o pai usou para fritar o cérebro do Freeman até ele funcionar como um celular, recebendo torpedos imbecis o tempo todo.
É, puta-merda, agora que você falou, eu tenho a quem culpar.
Antes que ele dissesse qualquer coisa, com os pulmões e o estômago apertados como um punho em torno dos waffles bege do desjejum, a voz foi substituída pela de Bondurant.
— Estamos esperando, Freeman.
— Não quero falar sobre isso. Já é ruim um chupador de cérebro querendo sua cabeça, imagina dois...
— Freeman, aqui é o Robert Brooks. Sou seu amigo.
Outra voz? Outro “amigo”? Já está parecendo piada. Um comitê de terapia. Será que esses palhaços acham mesmo que vão pegar o Freeman desprevinido, interrogá-lo como inspetores de polícia e ficar atirando perguntas até quebrar o moral dele?
— Como pode ser meu amigo se nunca me viu? — perguntou.
— Estamos aqui para ajudar — disse Brooks.
Ele ouviu uma discussãozinha se desenrolando no fundo, pois Brooks se equecera de desligar o microfone. Bondurant disse a alguém que Freeman era cleptomaníaco e que tinha que ter os dedos queimados pelo fogo do inferno. Freeman quis fazer triptrap nele de novo para sentir a fraqueza e a miséria sombria que preenchia a alma do cara. Só que a depressão estava mostrando sua cara: o elevador estava chegando ao térreo e o sarcasmo e a força de vontade falhavam.
A primeira voz a interrogá-lo disse: — Freeman, sou o Dr. Kracowski. Nós agendamos uma pequena demonstração para dois de nossos apoiadores. Você só tem que relaxar.
Relaxar. Freeman tomou um fôlego que tinha gosto de menta gelada.
— O que estou prestes a fazer vai doer por um momento, mas depois você vai se sentir melhor — disse a voz sem rosto de Kracowski. — Sua depressão vai ceder e você se sentirá alegre e cheio de energia.
— Como o senhor sabia que eu estou deprimido?
— Porque tenho o olho treinado para isso, Freeman. Porque eu escuto. Porque eu me importo.
— E que negócio é esse de doer só por um momento?
Se houve alguma resposta a isso, ele não ouviu porque — zzzzifff — seus ouvidos retiniram e uma luz laranja o ofuscou por detrás dos olhos. Os ossos da cabeça tombaram como cascalho numa betoneira. Sua coluna foi tomada por fios quentes e os intestinos se emaranhavam em nós. Um grito surgiu do nada. O sangue lhe adoçou a boca.
Era tão ruim quanto as coisas que o pai lhe fazia.
Freeman olhou fixamente seu reflexo, quase sem reconhecer o garoto no espelho: a dor marcara os anos amargos em seu rosto, descascou-lhe os lábios, fez-lhe tremer a cabeça e travar as mandíbulas. E o pior de tudo: ele se viu incapaz de ler sua própria mente. Lutara para respirar e esperava que a onda de agonia chegasse ao máximo.
Num fugacíssimo momento, seu reflexo mostrou o mesmo riso sarcástico estivado que emoldurava o rosto do pai antes de pedir ao filho que fosse ao banheiro ver a mãe.
Tal pai, tal filho.
Al Pacino em O advogado do diabo;
Clint Eastwood em O estranho sem nome;
De Niro em Cabo do medo:
um jeito de sorrir que pode matar.
CAPÍTULO 14
Richard Kracowski apertou alguns botões, mesmo que todas as funções estivessem programas no computador para serem executadas automaticamente. O movimento dos dedos e o olhar circunspecto para a tela dava certo estilo à apresentação. Para um cientista, a causa e o efeito eram o suficiente; com esses membros da diretoria e McDonald na assistência, contudo, Kracowski sentiu a necessidade de recorrer a uns passes de mágica.
Na Treze, o paciente estava se recuperando da tempestade mental que os campos de Kracowski acabaram de causar no cérebro e na alma. O garoto parou de tremer e esboçou um sorriso em seu semblante relaxado. Kracowski estava ansioso para ver como esse espécime em particular reagiria ao tratamento. Mesmo para alguém que forçava os limites nas duas direções, Kracowski sabia que esse garoto representava um paradigma no avanço de sua pesquisa.
— Que é que você fez? — perguntou Robert Brooks. Brooks estava ensopado de suor e os grossos óculos embaçados pela umidade da pele. Ele tentava disfarçar o cheiro de suor com uma colônia tão forte a ponto de Kracowski quase preferir que o sujeito tivesse fumado ali.
Brooks, porém, era uma peça importante, um dos homens do dinheiro, um industrialista gordo que fez fortuna produzindo meias e lingerie. No começo, As fábricas de Brooks ficavam em Piedmont, mas ele mudara as atividades para o México, tirando uma vantagem ainda maior da mão de obra do lugar. Ele deixara centenas de americanos desempregados, deixou caducar a imensa dívida de impostos pela propriedade abandonada e quadruplicou seu patrimônio pessoal. Ainda assim, ele tinha uma fantasia de ser filantropo, injetando vinte mil dólares por ano em Wendover.
Kracowski desprezava gente assim e McKaye era outro da mesma laia: bem vestido e torpe, daqueles que acreditam que o dinheiro é sinônimo de virtude. O médico desacreditava imediatamente de qualquer um que se apresentava com uma inicial no nome. Por isso, ele evitava a política do financiamento e do patrocínio, deixando o beija-mão para Bondurant. Kracowski fazia a encenação e Bondurant cobrava os ingressos.
E McDonald? O homem ficou quieto, distante, com um sorriso amarelo no rosto apático. Fisicamente ele era embotado como um sapo, com a cabeça atochada no pescoço como se prensada em argila. Os olhos pretos pareciam sugar a luz da sala e as cores dos gráficos computadorizados refletiam na testa do McDonald.
Kracowski deixou a pergunta de Brooks pairar por mais alguns segundos, digitando no teclado enquanto a impressora cuspia dados e a unidade de backup zunia durante a operação. As unidades de disco do computador ficavam num gabinete de cerâmica e chumbo e um campo contador de eletrostática fora criado para proteger os discos do perigo de desmagnetização.
— Ainda tenho que mexer em uns detalhes, mas em breve os senhores verão publicado no Journal of Psichology — comentou Kracowski.
— Tem sido um sucesso desde os primeiros ensaios clínicos — cortou Bondurant. — Ficaremos muito orgulhosos ao ver o trabalho associado ao bom nome do Abrigo Wendover e, claro, ao nome dos senhores também.
O garoto do outro lado do espelho os fitava sem vê-los realmente.
Brooks puxou a gravata com a papada apertada contra o colarinho apertado. — Eu não achei totalmente saudável. Como o senhor chama esse procedimento?
Kracowski engoliu um suspiro. — Terapia de Sinergia Sináptica. O princípio é muito simples. O cérebro opera uma série de impulsos e retransmissores elétricos. O senhor com certeza já ouviu falar da eletroconvulsoterapia, que era muito comum na metade do século XX.
— Tratamento com choque, o senhor diz? Igual ao Jack Nicholson em Um estranho no ninho?
— Tanto Hollywood quanto a área de saúde mental são feitas de ilusão, Sr. Brooks. Ainda há quem defenda a eletroconvulsoterapia; a eficácia desse tratamento em casos de depressão é bem documentada. Alguns pacientes reclamam de perda de memória recente e despersonalização. Claro, o tratamento pode ser levado a extremos, como no controverso tratamento “Deep sleep” na Austrália, em que usavam drogas para induzir ao coma os pacientes, que recebiam muitos e frequentes eletrochoques ao longo de várias semanas.
— Esse procedimento era legal? — perguntou McKaye.
— Um risco aceitável. O lado bom era que, dos sessenta por cento dos pacientes que sobreviviam ao tratamento, quase um terço deles escapava sem dano cerebral permanente.
— Não parece ser um risco muito inteligente de se assumir — disse McKaye.
— O verdadeiro teste de um experimento é o resultado. — Kracowski se afastou do monitor do computador e deixou que os outros vissem os números e as diversas fórmulas na tela. Ele sabia que os outros nada entenderiam, mas o gesto lhe conferia poder. Os pajés do século XXI precisavam de grandes velocidade de processamento e de discos rígidos com capacidade obscenamente grandes.
— Estou me sentindo muito melhor — disse o garoto na Treze.
— Glória a Deus! — exclamou Bondurant.
— É um procedimento básico — cortou Kracowski, antes que Bondurant finalizasse transformando a ciência num milagre.
O médico acionou algumas teclas e o monitor exibiu um modelo tridimensional do cérebro do garoto. Aproximou a imagem até que as várias dobras e circunvoluções aparecessem. — O cérebro contém cem bilhões de neurônios. Cada célula nervosa se comunica com outras dez mil células por meio de conexões chamadas sinapses, que modulam uma série de eventos elétricos que, por sua vez, criam alterações químicas no cérebro. O número de combinações possíveis de conexões com neurotransmissores é maior que o número de átomos do universo.
Kracowski fez uma pausa em sua palestra. Os olhos dos homens brilharam, exceto os de McDonald, que lampejavam de uma fome doentia. — Resumindo — informou Kracowski — o cérebro é um universo em si só.
Do outro lado do espelho, o paciente estava olhando para o teto. Freeman não conseguiria ver os gigantescos geradores eletromagnéticos que se dependuravam acima do forro, nem poderia saber que a cama em que se sentava estava conectada a uma corrente de baixa tensão. Havia um tomógrafo de pósitrons embutido na cabeceira do catre, um equipamento altamente avançado oculto por uma mera armação de metal. Acima do forro também havia magnetos supercondutores lacrados dentro de tanques de nitrogênio líquido que, por sua vez, ficavam encapsulados em tanques de hélio líquido.
Kracowski passou anos projetando suas salas de tratamentos, cada uma com especificações ligeiramente diferentes. A Treze era a melhor delas; a Dezoito também era bem boa. Todavia, antes de McDonald e a Fundação chegarem com apoio maciço e tecnologia pesada, além dos caríssimos gases líquidos, a TSS não passava de teoria. Naquele momento, era a ferramenta que levava a mecânica quântica para dentro da mente humana. Psicologia quântica.
— O Dr. Kenneth Mills não tinha uma teoria parecida? — questionou McDonald. Os outros pareceram notar McDonald pela primeira vez, com Bondurant esboçando uma expressão de desagrado. McDonald piscou para Kracowski, sabendo que tinha passado para ele uma bola fácil no meio de campo.
— Mills tinha noções rudimentares acerca do assunto — respondeu Kracowski. — A pesquisa que ele fazia era incompreensível e aleatória.
— Isso é o que o senhor sabe — comentou McDonald. — Inveja profissional, talvez?
Disse Kracowski a Brooks e McKaye: — A TSS envia correntes elétricas ao cérebro e, ao mesmo tempo, realinha os campos magnéticos prejudicados que controlam a emoção — explicou Kracowski para o grupo. — As pesquisas recentes mostram que o magnetismo aumenta o fluxo sanguíneo. Este tratamento emite um conjunto de comprimentos de ondas cuidadosamente controlado ao cérebro do paciente. As radiações envolvidas no processo estão num nível não ionizante. Os senhores devem ter lido sobre a suposta ligação entre os campos eletromagnéticos e a visita de alienígenas.
McKaye deu ares de protestar, mas Kracowski levantou a mão. — Não, eu não acredito em seres alienígenas, Sr. McKaye. Os que acreditam dizem que é por isso que as pessoas não se lembram de nada quando são abduzidas, por causa do intenso campo eletromagnético. Também há hipóteses de uma ligação entre os campos eletromagnéticos e o câncer causado por exposição a telefones celulares ou por morar nas proximidades de linhas de alta tensão. Até então, a pesquisa era muito limitada, muitas delas moduladas para livrar a cara do setor de telecomunicações e companhias de eletricidade. Há tantas coisas que ainda não compreendemos, mas meu trabalho está mostrando que o controle dos campos magnéticos tem um potencial positivo. Se o cérebro é um universo, meu trabalho se resume a colocar os planetas nas órbitas certas.
Bondurant assentiu com a cabeça, virou-se para McKaye e acrescentou: — E, de um ponto de vista religioso, ele está restaurando a fé das crianças nelas mesmas para que sejam merecedoras do Senhor. Este é só mais um de Seus misteriosos caminhos. Não é isso, doutor?
— É a harmonia. — Kracowski fez uma careta e olhou para o computador. A ressonância magnética do garoto estava piscando como uma luz de discoteca em verde, vermelho e magenta.
Brooks apontou para a tela. — E que diabos é isso?
O córtex cerebral estava mostrando uma leitura anormal. Kracowski verificou o eletroencefalograma. O gráfico pulava para cima num pico de ciclo rápido, como se os circuitos no cérebro do garoto tivessem se fundido com sobrecargas de sinapses. O garoto estava tendo uma convulsão.
— Isso é impossível — disse Kracowski.
Na Treze, Freeman tremeu, seus dentes travaram e os olhos se reviravam para dentro da órbita. Ele caiu na cama com os braços rígidos. Dava guinadas com a cabeça, batendo-a tão fortemente contra o colchão fino que Kracowski conseguia ouvir os golpes pelo microfone.
— Que está acontecendo? — gritou Brooks.
— Melhor chamar uma ambulância — disse McKaye. McDonald nada disse; cruzou os braços enquanto observava o garoto.
Kracowski viu o olhar de pânico de Bondurant com um sorriso preocupado, mas calmo. — Não será necessário, senhores. É parte do procedimento. Para ter chegado a esse ponto, os campos cerebrais do garoto deviam estar numa desarmonia acentuada.
— Ele está respirando? — perguntou Brooks, esticando-se para perscrutar o garoto pelo espelho.
O garoto se contorcia e se debatia. Kracowski ficou aliviado ao notar que a língua do garoto se projetou por entre os lábios, sinal de que ele não se sufocaria. O médico clicou para mudar de tela e verificou os dados. Naquele ponto, o tratamento deveria estar no final, com uma corrente em milivolts passando pela pele e pelos ossos do menino. Os pulsos eletromagnéticos estavam sendo emitidos segundo uma sequência programada e sincopada, massageando os pontos de desequilíbrio emocional do garoto.
— Qual é o diagnóstico? — perguntou Kracowski a Bondurant, mesmo estando familiarizado com o prontuário do paciente. Ele só queria que Bondurant despejasse o rol da lavanderia em ordem para fazer da cura um resultado ainda mais impressionante.
— Transtorno bipolar de ciclo rápido; tendências suicidas; cleptomania; comportamento antissocial; ciclotimia; possível esquizofrenia leve — relacionou Bondurant. — Além disso, é um pecadorzinho contumaz.
— Estão vendo, senhores? Esse garoto é muito problemático. Quando mais profundo o distúrbio, mais difícil a cura.
Brooks e McKaye fitavam o garoto em convulsão. Brooks disse entre dentes: — Se ele morrer...
— Eu nunca os deixo morrer — disse Kracowski tentando convencer-se.
Em breve Freeman Mills estaria totalmente endireitado, se vivesse o suficiente. McDonald teria sua arma e Kracowski a glória. Kracowski teria êxito no que Dr. Kenneth Mills e todos seus predecessores falharam.
— Doutor — disse McDonald — acho que estes senhores já viram o bastante. Por que o senhor não reanima o garoto?
Os óculos de Bondurant estavam embaçados pelo calor do laboratório.
— Ainda não acabou — respondeu Kracowski. Ele olhou pelo espelho bidirecional. Freeman se debatia entre as cintas de contenção, seus músculos se contraíam. Devia haver algum efeito do reflexo no espelho porque, num átimo, Kracowski viu o garoto de pé em frente ao espelho, pressionando as palmas contra o vidro e com a boca aberta num grito insonoro. Kracowski piscou e a ilusão se foi.
O garoto estava se acalmando, as contrações foram diminuindo. Kracowski olhou nos monitores separados, verificou o eletro e a ressonância magnética. O coração do menino estava bem, o fluxo sanguíneo do cérebro se normalizou e a pulsação estava um pouco alta, mas estável. Estava vivo.
Estava mais que vivo: estava curado.
Se Kracowski conseguiu organizar corretamente a sequência dos comprimentos de onda, o garoto faria uma alta pontuação num teste de PES com cartas Zener. No entanto, não era necessário que Brooks, McKaye nem Bondurant soubessem desse efeito em particular.
— Sr. Brooks, Sr. McKaye — disse Kracowski aos pálidos espectadores. — Os senhores presenciaram um milagre.
— Amém — sussurrou Bondurant.
— Você viu isso? — perguntou McKaye a Brooks.
— O quê?
— O garoto de pé em frente ao espelho.
— Ele estava na maca.
— Ilusão de óptica, Sr. McKaye — explicou Kracowski.
Brooks apontou para o eletroencefalograma. — Então é normal?
— O garoto produziu alguns picos. A epilepsia é uma espécie de curto circuito do cérebro. Não se conhecem as causas, mas posso garantir que tudo está perfeitamente bem agora. O tratamento fez as sinapses dele funcionarem melhor do que nunca.
— E esse problema vai acontecer de novo? — perguntou Brooks passando um lenço no rosto.
— Nunca — respondeu o médico.
— O senhor confia muito no que faz, não é, Kracowski? — perguntou McKaye.
— Não tenho outra opção. A mente desses jovens está nas minhas mãos.
— Nas suas e nas do Senhor — completou Bondurant.
Kracowski observou o computador coletar e armazenar os dados. O campo de energia estava diminuindo. As luzes do laboratório ficaram mais fortes. Era o término do tratamento.
Kracowski apertou o botão do microfone. — Como está se sentindo, Freeman?
O garoto levantou a cabeça. Ele mexeu o dedo como se quisesse que os espectadores se aproximassem, mas ele só conseguia ver o próprio reflexo.
— O quê? — perguntou Kracowski.
— Tem certeza de que ele está bem? — perguntou Brooks. — Parece que ele vai vomitar.
— Ele está bem — respondeu Bondurant.
— Doutor — disse Freeman olhando para o espelho.
— Você está curado, rapaz — disse Kracowski. — Curado.
— Fico muito feliz em saber, senhor.
— Seu cérebro e sua mente estão em harmonia.
— O senhor é um ótimo médico.
— Está sentindo alguma dor?
— Dor?
— Você teve uma convulsão durante o tratamento.
— É assim que o senhor chama quando a gente morre e volta em seguida?
Kracowski soltou o botão do microfone.
— Ele não deveria saber disso, não é? — observou Bondurant.
— Ele não sabe de nada, é só um paciente.
Freeman falou alguma coisa, mas as palavras ficaram entre os grossos espelhos da sala. Kracowski apertou o botão.
— Truquezinho do bom esse, doutor. Enquanto eu estava morto, vi um lobo enorme me esperando debaixo da ponte.
Kracowski acionou um interruptor; a Sala Treze e Freeman ficaram na escuridão. A luz verde das telas do computador e as cores da imagem da ressonância magnética do cérebro de Freeman se intensificaram na penumbra.
— A apresentação está terminada, senhores — disse Kracowski.
— Acho que vi mais do que eu queria ver — comentou McKaye. — Juro que eu preferia ter lido o experimento numa publicação.
Bondurant conduziu Brooks e McKaye para fora do laboratório. Kracowski passou o dedo sobre a imagem multicolorida do cérebro de Freeman.
— A mente é um universo — disse para si mesmo. — Meu universo.
— Não se vanglorie tanto assim — disse McDonald. — O senhor acha que Freeman Mills chegou aqui por acaso? O senhor não é o único que gosta de brincar de Deus.
CAPÍTULO 15
Freeman se sentou sob as árvores perto do lago. O ar tinha um gosto cinza. Ele se sentia como aqueles prisioneiros de guerra vietnamitas que faziam roleta russa em O franco atirador — os que perdiam, os que por azar acabavam com os miolos espalhados por todo lugar. Não como De Niro, que conseguia enfrentar, ou mesmo como Christopher Walken, que não era tão durão, mas que conseguiu sobreviver — até certo ponto, pelo menos.
No gramado perto do prédio principal, as crianças brincavam, corriam, gritavam. À distância, ele não conseguia fazer triptrap em ninguém. De perto, eles quase o dominaram, apinhando-se na sua ponte mental como inimigos invasores, com seus pensamentos como projéteis e suas emoções como farpas de bambu.
Se ele ficasse sozinho, talvez conseguisse resolver. Ele se lembrava de ter ido para a Treze, de falar com um psiquiatra por um espelho bidirecional, depois outros psiquiatras, depois tudo ficou embaralhado. Ele andara por uma terra estranha em que havia pessoas tremeluzentes se levantando do piso escuro e saindo das paredes. Eram pessoas que abriam a boca em gritos mudos. Uma gente assustadora.
Em seguida, as luzes se acenderam na sala e ele começou a olhar o teto com os músculos doloridos e o psiquiatra começou a falar com ele pelo microfone. Dr. Kracowski, foi como o psiquiatra disse que se chamava. Freeman percebeu que, na verdade, o homem não tinha dito nada. Freeman penetrou na mente dele e de lá pegou essa informação.
Freeman também conseguiu minerar outras pepitas do cérebro do médico: fórmulas e teoremas obscuros, propriedades da eletricidade e comprimentos de onda e outras coisas que passariam despercebidas numa sala de aula, mas que virariam ouro quando descobertas dentro da cabeça de alguém. Também tinha outros fragmentos: uma mulher chamada Paula Swenson, uma brincadeira de médico que o faria corar se entendesse mais um pouco desse assunto. E também algo sobre o Dr. Kenneth Mills — olha o papai aí.
Antes, porém, que Freeman conseguisse se aprofundar no assunto, Starlene Rogers batera na porta da Treze, Kracowski saíra correndo do laboratório para tirá-la de lá e depois disso Freeman estava na mente dela: luz do sol, rosas e um trailer em Laurel Valley, versos da Bíblia e garotos em picapes, um gato chamado T.S. Elliot, o supervisor Randy que talvez tenha pelos demais no peito pro gosto dela, mas que era um cara legal, os livros do curso de psicologia, brilho labial sabor pêssego, a cabeleireira Lucille que era habilidosa com o babyliss, o Jubileu Gospel na igreja batista de Beaulahville, um homem estranho de camisolão cinza.
O mesmo velho que Freeman vira no corredor e depois na área onde se lavavam os pratos.
Exceto que, nos pensamentos de Starlene, o homem estava molhado e deixou um rastro que parava no meio do corredor.
E que depois Kracowski estava no corredor, dizendo “Desculpe, Srta. Rogers, o acesso a esta sala é restrito a pessoas autorizadas” e alguém soltando as cintas de contenção que prenderam Freeman à maca e depois estava dentro da cabeça de Bondurant, e Bondurant não estava por ali pela sala. A cabeça de Bondurant era nebulosa, os pensamentos não se completavam até se engastalharem na próxima sequência. Naquele momento, Starlene e o médico estavam discutindo e Freeman ficou imaginando qual a extensão e quantas mentes que ele conseguiria fazer triptrap, e Paula e Randy apareceram...
Alguma coisa veio parar no seu colo e o trouxe bruscamente para o presente, perto do lago. Ele olhou para baixo e viu uma moedinha.
— Pelos seus pensamentos — disse Vicky.
— Você não vai ter dinheiro que pague.
— Duvida? — Ela estava pálida sob a luz do sol, quase etérea em sua magreza. Os olhos dela eram nuvens negras de tempestade na calmaria de seu rosto.
— Está bem. — Freeman olhou para a água do lago. Será que ele conseguia ler a mente de um peixe?
— Claro que pode, bobinho. Não tem mente que você não consiga ler.
Freeman se retraiu como se ela lhe tivesse jogado um balde d’água fria do lago.
— Tipo, você acha que eles sonham com minhocas gordas? É só “nadar, nadar, nadar”. — Vicky cruzou os braços.
— Você não está aqui. Porque eu estou pensando que quero ver o que você está pensando, mas não consigo.
— Porque você se acha o superespecial, que é só você que tem problemas ou só você que tem poderes.
— Eu não estava pensando isso.
— E eu nem precisava ler sua mente pra saber isso. Está escrito na tua cara. “Não se mete com o poderoso aqui senão você vai pagar com a vida”. E essa fixação com o Clint Eastwood é ridícula.
— Por que é que você não vai se ferrar e some daqui? — Freeman se concentrou na água até o brilho das suas lágrimas começaram a se fundir com o do lago.
— Por que você não aproveita e para de mentir pra si mesmo? — Vicky se virou, caminhou até os rochedos e quase escorregou pelo caminho entre eles quando enfim Freeman penetrou seu bloqueio mental, pelo menos por um instante.
— Não para não, sua bunda gorda — gritou para ela.
Ela parou, se virou e baixou a cabeça.
— Seu pai te chamava de “bunda gorda”, não chamava?, quando você era pequena?
Ela se ajoelhou. Os joelhos dela tremiam. Freeman enxugou as lágrimas, culpado pelo golpe baixo, mas satisfeito por ter conseguido penetrar a barreira dela. Pensou que, se fosse um filme, era o momento de ir até ela, abraçá-la, mostrar que ele era forte, gentil e compreensivo, como George Clooney em praticamente todos os papéis. Em vez disso, ele pegou a moedinha e a segurou contra o sol.
— Eu estava quase esquecendo ela aí — disse Vicky. — Acho que o primeiro psiquiatra me fez lembrar disso, mas as melhores coisas ficam enterradas bem fundo. Acho que você venceu.
Allen, um dos funcionários — o com cara de rato — passou por ali e acenou para eles sob a sombra de um chorão, sinalizando que estavam seguros e sob vigilância. Que sem graça. Se Allen soubesse...
— Quando foi que você parou de comer? — perguntou Freeman. — Foi gradual ou você um dia acordou e descobriu que mingau de aveia tinha gosto de sola de sapato?
— Eu não parei de comer. Eu ainda como muito.
— Tá. Você pesa, tipo, uns trinta e cinco quilos com mochila nas costas?
— Trinta quilos e provavelmente uns 20 gramas, se o estômago conseguiu digerir direitinho as duas colheres de almoço.
— Uma menina alta como você deveria pesar pelo menos uns quarenta, quarenta e cinco.
— Isso se você acredita na tabela. Mas quem liga pra isso? Sou o que eu vejo no espelho. Uma bolha de banha ambulante.
— Você só tem pele com uma pilha de ossos embaixo.
— Aposto que você diz isso pra todas as garotas.
— Não mesmo. Você é muito magrinha.
— Não, sou uma bunda-gorda.
— Não acredite em tudo o que teu pai diz. A gente sabe o quanto eles erram, ou piram, em alguns casos.
Freeman se levantou, encontrou uma pedrinha chata e a atirou no lago, fazendo-a ricochetear sobre a água. Ela quicou seis vezes antes de afundar. Ele caminhou até Vicky e se ajoelhou ao seu lado. Ele tentou se concentrar, mas sentiu de novo o perfume dos cabelos dela.
— Desculpa se eu peguei pesado — disse ele. — Eu sou meio nervoso. Quando vem muita informação e eu fico lendo a mente de um monte de gente ao mesmo tempo...
— Wendover faz isso com a gente. Esses tratamentos do Kracowski. Eu lia muito livro com esses títulos tipo Mistérios da mente, Segredos do desconhecido, parapsicologia e fantasmas, essas coisas. Cheguei até a praticar PES todas as noites, ficava com a cara tão torta que os olhos quase saíam das órbitas, mas nunca consegui ser boa nisso. Aí eu vim pra cá e, pou!, virei praticamente uma paranormal.
— A Paula e o Randy levaram você para a sala com uma mesa e umas cadeiras?
— Com aquele baralho? Levaram.
— E a Paula ficava segurando uma carta de cada vez, mostrando só o verso, pra você adivinhar que símbolo estava desenhado nela?
— Isso. Um círculo, um quadrado, uma cruz, uma estrela de cinco pontas e umas linhas onduladas. Superbatido. Pô, o Centro de Pesquisas Rhine usava isso faz uns oito anos. Hoje em dia a maioria dos parapsicólogos usa máquinas.
— É mais difícil trapacear a máquina. — Freeman jogou a moedinha para cima, pegou-a e a segurou.
— Coroa — disse Vicky.
Freeman abriu a mão. Coroa.
— Quantas cartas você conseguiu acertar? — perguntou ela.
— De vinte e cinco, acertei vinte e duas.
— Eu acertei três.
— Três? Acho que só adivinhando você conseguiria acertar mais.
— Você acha que eu quero que esses imbecis saibam que eu consigo ler a mente? Tá louco?
— No séc. XXI, não existe louco — disse Freeman. — Só ciência e censura. Este lugar é só uma fachada pro que o Kracowski anda aprontando. Você já viu os folhetos falando sobre angariação de fundos para Wendover? “Doe de coração para as crianças da sociedade.” Nós somos os produtos da culpa coletiva dos outros.
— Então por que você está se comportando como culpado?
Jesus Cristo dos Santos, por favor não a deixe entrar no meu cantinho escondido da minha cabeça onde eu escondi o coisa-ruim — o lobo faminto.
— Não sou culpado — respondeu Freeman antes que seus pensamentos permeassem as rachaduras sombrias. — E eu me saí muito melhor na leitura das cartas. Antigamente eu fazia vinte e cinco de vinte e cinco cartas quando tinha seis anos.
— Seis anos? Você lia pensamento assim tão novinho? Antes do Kracowski?
— Meu pai me ensinou.
— Opa... Quando você disse “pai”, senti uma coisa ruim. Que é que aconteceu?
— Nada. Você pensa demais para uma menina.
— Você não conhece muitas meninas, né?
— Acho que não.
— Você vai mentir para quem consegue ver dentro da sua cabeça, Freeman?
— Tá bem, tá bem. Nunca beijei ninguém, se é o que você quer saber.
Vicky suspirou com um ar dramático e balançou a cabeça. — Tô falando de conhecer uma garota, se preocupar com ela, ter uma amiga.
— Não preciso de amigo nenhum. — Além do lago, sob a fachada de Wendover, brincavam as outras crianças. Freeman tentou saber a pontuação da partida de futebol, mas toda a eletricidade que o permitiu projetar sua mente para além do gramado se foi. Talvez ele a tenha esgotado tentando se esgueirar por entre as defesas de Vicky.
— Me desculpe se eu te chamei de bunda gorda — disse ele.
— Tá tudo bem. Me desculpe se eu invadi sua mente sem sua permissão. Como é que você chama, “triptrap”?
— Era como meu pai chamava. Você passou por algum tratamento ultimamente?
— Ontem. Aqueles espelhos são horríveis. E o zumbido? Parecia que as paredes tinham uma colmeia de abelhas de metal.
— É isso que faz a leitura de pensamento.
— Eu sei — disse Vicky. — Eu fiz umas leituras incríveis ontem, como no refeitório. Acho que, se eu estivesse concentrada, eu conseguiria ler a mente de todos que estivessem lá. Ou talvez não estivesse concentrada, mas o contrário: desligada, meditativa, com a cabeça nas nuvens.
— Só deixando os pensamentos fluírem. — Freeman jogou a moedinha de novo. Cara. — Às vezes, quando você vai atrás dos pensamentos, eles ficam todos misturados na sua cabeça e a gente fica louquinho.
— Lembre-se do que eu disse sobre loucura.
— Meu poder está indo embora. Eu sinto ele diminuindo, como um rádio de carro ficando com estática.
— Para mim geralmente dura um ou dois dias. Já passei por quatro tratamentos com o Kracowski. Não sei o que ele está tramando, mas acho que tenho uma noção.
Freeman esfregou a cabeça lembrando-se da convulsão. — Não é tão ruim. Não é como os experimentos do meu pai. Mas eu é que não vou falar sobre ele.
— Até parece. Eles dizem que dói durante um tempo. Ouvi isso a minha vida inteira e ainda não parou de doer.
— Já ouviu falar da Fundação?
— A Fundação? Não.
— Tudo bem.
— Que é a Fundação?
— Deixa pra lá, esquece.
— Não consigo esquecer. Aliás, nunca consigo.
— Esquece.
— Olha, eu sei exatamente o que você tá pensando — disse Vicky. — Eu sou Jane Fonda e você o Robert de Niro em Stanley & Iris e você espera que eu te pegue e te ensine e abra pra você um mundo novo. Ah, presta atenção.
— Não, não estava pensando nisso. Aliás, esse filme deve ser muito idiota.
— Já vi piores, mas não ultimamente.
Freeman jogou a moedinha de novo, pegou-a e a segurou entre os dedos.
— Cara — disse Vicky.
Freeman deu uma olhada na moeda, escondendo-a. Cara de novo. — Não, coroa — disse ele, colocando a moedinha no bolso.
O sol estava se pondo, tocando a serra a oeste. Freeman olhou para o outro lado do lago, esperando que um dos supervisores os chamassem. De lá, eles não conseguiriam ouvir o sinal que tocava para a hora de jantar.
Ele viu alguém sob as árvores e primeiro achou que fosse Randy, o musculosão. Ele tentou fazer um triptrap rápido, mas a pessoa estava longe demais e sua capacidade estava reduzida. Depois o vulto apareceu na luz esparsa do ocaso. Era o velho de camisolão.
— Você também consegue vê-lo — percebeu Vicky.
— O esquisito vestido de cinza? Eu já o vi duas vezes.
— O que ele está fazendo aqui?
— Talvez ele esteja a fim de tomar um banho no lago.
Vicky abafou uma risada. — Ai, Freeman, que maldade. Ele pode ser a melhor pessoa daqui, sabia?
— Achei que ele trabalhasse no abrigo como faxineiro, sei lá. Ele deve estar neste lugar há tanto tempo que nem falam mais nada com ele por se vestir assim. Economizaram no uniforme.
O homem se aproximou da beira d’água, parou e pareceu sentir um cheiro no ar. Ele olhou em direção a Wendover no aclive do gramado acima do lago e depois para Vicky e Freeman. Freeman não conseguia dizer se o homem estava sorrindo ou fazendo uma careta enquanto se aproximava da água e inclinou-se para traz com o esforço de descer a margem.
— O idiota do velho vai nadar mesmo — disse Freeman. Vicky e ele se levantaram para vê-lo melhor. — Ele vai morrer congelado.
O velho colocou um pé na água. Depois deu mais um passo. Ele devia estar sobre uma pedra porque colocou o outro pé n’água sem afundar.
Mais quatro passos arrastados e ele ainda estava acima d’água. Ele não estava nadando nem tomando banho de lago, nem afundando.
O velho estava caminhando sobre as águas.
CAPÍTULO 16
Todas as crianças estavam presentes, até Deke e seus comparsas. Starlene sabia que eles gostavam de escapulir para fumar nos loureiros, mas ela não achava que chegar lá no flagrante seria de alguma ajuda, ao menos até que ela conseguisse estabelecer um clima de harmonia. Ela precisava ganhar a confiança deles para ser uma boa terapeuta. E pelo menos não era maconha que eles fumavam. Provavelmente não.
No lago, Vicky e Freeman estavam conversando. Isso era um bom sinal para ambos porque Freeman agira como um babaca antissocial e Vicky estivera indiferente desde que Starlene começara a trabalhar em Wendover. A pobre garota era um caso clássico de anorexia bulímica e talvez a presença de um amigo melhorasse sua autoestima, o que podia ter efeitos benéficos em seu apetite. Ela suspirou com ares de lugar-comum de um texto de autoajuda.
Starlene olhou o relógio. Faltavam quinze minutos para o jantar. Os supervisores tinham turnos semanais e a próxima semana era folga dela. Depois de comer, ela faria a longa viagem até Laurel Valley, onde seu gato a esperava no frio trailer onde morava. Um bom livro e uma oração a acompanhariam até a meia-noite, quando provavelmente lhe chegaria o sono — inquieto, por sinal, por causa da agitação dos últimos dias. Primeiro foi Randy a invadir-lhe o repertório onírico, com seus grandes braços, sorriso marcante e superproteção irritante. Os homens de hoje em dia achavam que um beijo já era sinal de que você tinha que pular na cama deles e que podiam chafurdar no seu corpinho. Randy não entendia o significado da paciência, especialmente no que tange a esperar o casamento. Fora da igreja batista, a castidade não parecia uma virtude muito estimada e a virgindade era mais um fardo que uma propriedade valorizada nos dias de hoje.
Randy também era tão esquivo, cheio de não-me-faça-perguntas. Ela precisava de um aliado no abrigo. O trabalho já era árduo o bastante mesmo com a presença de um amigo. Como teria um relacionamento duradouro com alguém que não compartilhasse sua vida com ela?
No momento, ela tinha outras preocupações a lhe tirar o sono — por exemplo, esse negócio esquisito do cara de camisolão que simplesmente sumiu. Não importava o que pensavam Randy, o Sr. Bondurant e o Dr. Kracowski: não foi uma alucinação. Ela acreditava que as visões religiosas estavam confinadas ao Velho Testamento e não aconteciam por aí no mundo contemporâneo. No entanto, Deus sabe que a verdade quase sempre se mostra sob os disfarces mais inusitados.
E o Freeman, o garoto que saíra da Sala Treze confuso e tremendo? Ele era outro enigma nesse misterioso lugar.
— O garoto está bem agora — disse o Dr. Kracowski que surgiu por detrás.
Kracowski estava com a Dra. Swenson atrás de um carvalho. Paula, como a médica gostava de ser chamada, especialmente pelos homens. Ela piscava os olhos a cada vez que era apresentada pelo primeiro nome e se regozijava em dobro se, em seguida, um homem examinasse o crachá no peito dela por cinco segundos ou mais. Starlene não tinha inveja, embora a intrigasse qual seria a estratégia daquela mulher para ter chegado a se formar na faculdade de medicina.
Kracowski aguardou, olhando para Starlene com aquele ar de autossatisfação. Contente com a presença da coleguinha ou convencido da sua genialidade terapêutica?
— Não sei — duvidou Starlene. — Ele estava muito trêmulo quando deixou a sala de tratamento.
— A senhorita não confia mesmo em mim, não é? — O Dr. Kracowski se virou para a Dra. Swenson. — Ela não acredita em mim.
— Não é a minha área, doutor — disse Starlene. — Minha principal responsabilidade é o bem-estar das crianças.
— A minha também, Srta. Rogers. Somos todos parte da equipe Wendover. Nossa vitória é medida em corações e espíritos contentes. Uma criança a cada vez.
— Que negócio era aquele com a eletricidade? Achei que o abrigo não estava autorizado a administrar eletroconvulsoterapia. Tenho certeza de que nem Freeman, nem seu responsável legal, autorizaram o procedimento.
— O responsável legal do Freeman agora é Wendover — corrigiu Kracowski.
— E o tratamento deve ter feito bem às emoções dele — completou a Dra. Swenson com sua voz de líder de torcida. — Ele ficou tão bem que até está flertando com a vômito-solto?
Starlene teve vontade de estrangular a mulher por ela ter usado o apelido, mas o risinho malicioso do Kracowski a impediu.
— Paula, não é só porque as crianças não podem nos ouvir que vamos baixar a guarda — alertou. — Além do mais, se você chamar um cachorrinho de “Bunda-feia”, ele sofrerá de baixa autoestima e ficará deprimido mesmo que os cães não saibam o significado das palavras. É tudo projeção e percepção, criar expectativas.
Starlene olhou o relógio de novo. Mais três minutos. Ela ainda conseguiria ficar na companhia de seus colegas, claro. Isso não era nada comparado às provações do trabalho ou aos rigores de um quermesse da igreja.
— Diga-me uma coisa, Srta. Rogers — disse Kracowski acenando para indicar com a mão as crianças brincando e gritando no campo — O que a senhorita vê quando olha para nossos jovens protegidos?
— Vejo corações sedentos de esperança. E acho que não basta nós darmos choques neles a esmo.
Swenson a fulminou com o olhar. — Os tratamentos do Richard causam uma mudança positiva em nível atômico. Ele cura a pessoa como um todo, de dentro para fora.
Kracowski riu. — Não preciso de advogada de defesa, minha cara. Os resultados falarão por si assim que eu compilar meus dados e redigir meus artigos.
— Para o senhor esse é o objetivo final, não é? — Starlene sabia que estava arriscando o emprego, mas ela não suportava mais os subterfúgios e a prepotência do Kracowski. — Quanto mais crédito na comunidade científica de psicologia, menos importância têm essas crianças.
— Eu me importo com elas mais do que imagina, Srta. Rogers. Essas crianças que receberam a Terapia de Sinergia Sináptica, eu sou elas. Quer dizer, como eu era quando criança. Perdido, confuso, inseguro quanto ao meu lugar no mundo. Eu tinha tanta raiva dentro de mim.
— O senhor enfiou um dedo na tomada ou alguém fez isso pelo senhor?
— Nós não somos assim tão diferentes, Srta. Rogers. Eu acredito no otimismo. Ele e a harmonia estão relacionados, não importa se a harmonia é induzida por TSS ou se vem da atenção de alguém que finge se importar.
— Eu me importo — disse Starlene. Ela viu Vicky e Freeman nas pedras perto do lago, pareciam estar discutindo. Fazia semanas que ela não via Vicky assim tão animada.
— Tenho certeza de que se preocupa — disse Swenson. — A senhorita sofreu a lavagem cerebral do sistema duplo religião-ciências sociais.
— Paula, você a está julgando — disse Kracowski. — Todos precisamos de fé.
— Fé — ressaltou Starlene. — Vou me lembrar disso nas minhas orações noturnas.
O sol estava mais baixo, quase tocando a silhueta das montanhas, fazendo uma sombra que se projetava como dedos na direção do Abrigo Wendover.
— Vou-lhe dizer uma coisa — afirmou Kracowski. — Por que não me deixa administrar TSS na senhorita? Se a senhorita estiver sã e saudável, não lhe fará mal. Se tiver algum problema, o alinhamento dos seus campos emocionais ficará correto. A senhorita verá que não sou nenhum Victor Frankenstein e sua câmara de horrores.
Starlene cruzou os braços. A noite se aproximava e, com ela, o frio. Talvez o frio tenha se originado na voz desafiante de Kracowski.
— Claro — disse ela, — vou servir de cobaia para o senhor. Inclusive seria ótimo um caso envolvendo um paciente adulto para reforçar os resultados da sua pesquisa.
— Amanhã à noite, então?
— Minha folga começa esta noite.
— Posso mudar a minha agenda. As coisas aqui vão ficar bem interessantes. A comissão estadual vem nos visitar em alguns dias e nossos diretores estão ansiosos para saber o que está acontecendo por aqui.
— Quer dizer, eles estão ansiosos para se deleitar na glória da sua genialidade — disse Starlene.
No lago, Vicky e Freeman pararam de conversar e estavam olhando do outro lado. Starlene seguiu os olhares deles e foi então que ela viu o velho.
Ela quase deixou escapar para Kracowski mostrando-lhe que o homem das pegadas molhadas era real, que ela não tinha inclinação à insanidade temporária nem a alucinações. Starlene estava vendo o homem andando sobre as águas, quatro passos, cinco, e estava tentando negar tal prova ocular quando o homem desapareceu.
Talvez ela precisasse mesmo de um tratamento de TSS.
Ou não, talvez ela precisasse só de algo que lhe deixasse o cérebro no bagaço.
Ela sabia que, na história registrada, só uma pessoa conseguiu andar sobre as águas e era Jesus Cristo, que ressuscitou e ascendeu aos céus.
A menos que Jesus tivesse prometido voltar bem ali, nos Apalaches meridionais, nos campos de Wendover, havia então um tipo diferente de espírito à solta.
CAPÍTULO 17
A sala de reuniões estava silenciosa e com pouca luz. As mãos de Francis Bondurant seguravam inquietamente seus óculos. Ele queria mais um trago, mas não ousaria deixar Kracowski saber desse seu vício. Em serviço e em público, pelo menos, ele era um homem abstêmio.
Do outro lado da mesa polida estavam Kracowski e Swenson, sentados lado a lado. Essa sala, onde se reunia trimestralmente o Conselho Administrativo, estava a algumas portas além de onde Bondurant imaginara ver aquela senhora na noite anterior.
Não, eu não imaginei: ela era REAL, olhava pra mim com aquela cicatriz horrenda sorrindo na testa e...
Bondurant colocou num copo uns dois dedos de refrigerante. Secou a boca com a manga do terno e, percebendo o suor, afrouxou a gravata. Oxigênio para o cérebro nunca era demais, ainda que seu coração estivesse bombeando com força o sangue para dentro da cabeça.
— O senhor está suando em bicas — disse Kracowski. — Que está acontecendo?
— É assim mesmo...
Paula Swenson sorriu da subjugação de Bondurant e se aproximou de Kracowski. Ela escolhera o macho alfa e os olhos dela diziam que ela o fisgou até a morte ou até um gordo acordo de divórcio, o que acontecesse primeiro. Ela não dava a mínima para as crianças, para o abrigo ou para a boa reputação de Wendover. Sua reputação foi feita nas costas e não nos pés.
Bondurant apertou o punho sob a mesa, fazendo entre os dedos o formato do cabo do “Outra Face”, imaginando Swenson sobre a escrivaninha e gritando baixinho e, depois, de verdadeira dor enquanto ele lhe sentava a palmatória, depois de novo, e de novo...
— Agora o senhor está evaporando também — observou Kracowski.
Bondurant enxugou o suor das sobrancelhas. — São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esses dois diretores aparecendo sem aviso prévio, seus experimentos cada vez mais frequentes, a equipe mudando e os inspetores do estado que chegam daqui a alguns dias. Esse McDonald sempre à espreita. Agora esses novos apoiadores; sei que foi Deus que os mandou, mas é difícil lidar com eles.
— A pressão é interna, não externa — definiu Kracowski.
— Boa frase — concordou Swenson. — Melhor você anotar.
— Eu já anotei.
— É que — Bondurant pausou para colocar os óculos — os funcionários estão um pouco inquietos.
— Inquietos?
— É o... O senhor sabe...
— Se eu soubesse, não haveria a necessidade de o senhor ter agendado esta reunião.
— Sim, senhor.
— E o meu tempo é muito valioso. Se o senhor precisasse de uma consultoria particular, não teria dinheiro para me pagar.
— Que sorte para o abrigo que o senhor está disposto a fazer isso de graça — disse Swenson, como se dificilmente isso a deixasse contente.
— Não fazendo nada além de brincar. A maior brincadeira de todas, não é mesmo, Bondurant?
— Brincadeira? — as mãos de Bondurant tremiam.
— É, brincar de Deus. Curando alminhas, é o que a gente faz aqui, não é?, redimindo a sociedade de seus pecados, consertando os erros de Deus.
Bondurant desejou que algo lhe sujasse os óculos. Ele até arriscaria um uísque. O nó da gravata ficou mais apertado. Não havia nada a fazer, senão ser direto. — É sobre os fantasmas.
Kracowski até então estava reclinado na cadeira, casual, talvez de mãos dadas com Swenson por debaixo da mesa. Nesse momento ele se sentou de frente e fixou o olhar como se tentasse decidir a que espécie Bondurant pertencia.
Depois de uma longa pausa, a atmosfera da sala ficou mais densa e Kracowski sorriu. — Fantasmas.
Swenson deu uma risadinha. — Uuuuh. Então era isso que ficava me roçando de noite? Achei que era você, Richard.
Ela apertou o braço do médico, mas ele a afastou. — Agora não, Paula. Ele está falando sério.
Bondurant desejou que ele, como a mulher louca que vira, pudesse sumir pela parede. Kracowski desprezava a fraqueza; acreditar em algo que não pudesse ser provado, para ele, era fraqueza. — Já tivemos três relatos de funcionários. Uma delas inclusive foi embora.
— E em que consistem esses relatos? Aquela história velha do homem de camisolão? Essa eu mesmo já ouvi, desde que eu tinha uns quatro anos. O senhor sabe que essa história é uma lenda urbana, não é, Bondurant?
Com resposta, ele assentiu com a cabeça.
— Bom, parece que Wendover tem sua própria lenda urbana, que fala de um corcundinha triste que eles chamam de “vigia Larry”. Tenho certeza absoluta de que o tal “fantasma” é anterior à existência do Abrigo Wendover e que qualquer um da região vai adorar compartilhar as lendas que os avós deles contavam sobre este lugar. Toda cidade, toda construção antiga tem um fantasma.
— Wendover só tem uma década de existência, mas só o prédio já tem mais de setenta anos — disse Swenson. — Isso significa que muita gente morreu aqui?
Kracowski riu. — Ninguém morre em Wendover. Não é, Bondurant?
— Por enquanto, não — disse ele entre dentes.
— Como é?
— Eu disse “Não como Enlo”.
— Ah, o abrigo em que a garotinha morreu enquanto tentavam contê-la.
— Pelo menos é o que dizem — disse Bondurant. — Era uma técnica aprovada pelo Serviço Social. A garota tinha um problema cardíaco e ninguém sabia. No entanto, serve como advertência. Enlo passou por seis meses de intervenção.
— Uma pena. O senhor acharia que as autoridades deixariam o fantasma da garota sair da sepultura e dispensaria a justiça.
Swenson tocou o ombro do médico. — Você é engraçado, Richard. Não é à toa que eu gosto de você.
Kracowski franziu a testa em desaprovação. — Não faça isso no trabalho. Quantas vezes tenho de lhe pedir?
Bondurant ficou pensando se Kracowski acreditava mesmo que ninguém em Wendover soubesse do caso entre eles. Kracowski, porém, não suportava fofoca e, para ele, uma conversa casual sobre assuntos pessoais era a morte. Faltava-lhe humanidade até quando reconhecia publicamente que trabalhava em serviços humanitários. Ainda que Wendover e seus clientes fossem um esporte para Kracowski, ele levava o jogo muito a sério.
— Acreditando ou não nesses relatos, ainda temos esse problema — disse Bondurant. — As pessoas comentam entre elas, os rumores voam.
— Eu cuido disso. — Os olhos de Kracowski ficaram ainda mais escuros.
— Três pessoas viram o homem de camisolão. Eu não acho que os três estejam loucos.
— Talvez duas delas? — provocou Swenson.
— Pelas descrições, acho que sei quem possa ser esse homem.
— Ah — desabafou Kracowski — lá vem. Um dos seus profetas perdidos, com certeza. Espero que seja Ezequiel, que viu a carruagem de fogo. Ou Elias e a sarça ardente. Todos os lunáticos do Velho Testamento eram piromaníacos.
Bondurant pinçou a armação dos óculos. Ele curvou a cabeça e pediu força aos céus. A confissão fazia bem para o espírito; o problema era como começar. — O senhor sabe que, quando terminaram de construir o abrigo na década de 1930, ele se tornou um hospital psiquiátrico?
Kracowski acenou com a mão. — Claro que sei: o Hospital Mary G. Mitchell. Era uma instituição de treinamento especializado para os melhores médicos da Carolina do Norte, produziu muitas pesquisas sérias no campo clínico e teórico.
— Sim, mas todos concordamos que os tratamentos não eram necessariamente... humanos.
— A ciência avança mais com os erros que com os acertos — observou Kracowski. — E, não posso deixar de dizer, também a religião.
— Talvez, mas lobotomia frontal, terapia de coma, esterilização forçada, eletrochoque...
— Eu não administro eletrochoque.
— Claro que não. E também todo um novo tipo de medicamentos. O final da década de 1940 e a década de 1950 foi a era do comprimido. Foi uma época mais profícua para os médicos que para os pacientes. Em vez de gastarem horas ouvindo as pobres almas atormentadas, bastava prescrever alguma coisa no bloco de receitas e mandar aviar na farmácia mais próxima.
— Nenhum de nós aprova o uso de drogas — disse Kracowski. — O senhor por causa da religião e eu porque elas distorcem a harmonia do cérebro.
— Mas é isso que você corrige — observou Swenson. — Você consegue realinhar os campos magnéticos dos pacientes.
— Para uma médica, você é muito esperta — disse-lhe Kracowski, com uma ponta de sarcasmo que ela não captou. — No entanto, eu preferiria que o paciente estivesse curado e não precisasse se submeter a tratamentos. A harmonia é o estado natural do cérebro. Costumamos culpar a civilização, a sociedade e, claro, a religião pelas pressões e desgastes que deixam desarmônicos o cérebro das pessoas de hoje.
— Eu li as suas teorias, doutor. — Nesse momento, Bondurant desejou avidamente aquele uísque. Se Deus fizesse aparecer agora umas três doses de uísque. — Mas há mistérios que a ciência nunca conseguirá resolver. Como o do fantasma.
— O senhor e o maldito fantasma. Ainda digo que não é nada, mas esse pensamento concentrado embaralhou meu poder de sugestão.
O estômago de Bondurant estava hirto. Ia ser dureza. — Eu mesmo vi um deles.
A sala ficou tão quieta que Bondurant escutava sua pulsação nos ouvidos. A Dra. Swenson parou de puxar a linha da blusa.
Kracowski apertou os olhos. — O corcunda, por acaso? Graças ao poder da sugestão?
Bondurant balançou a cabeça, envergonhado, assustado. — Não. Era uma mulher. Ontem à noite. Ouvi um barulho no corredor e eu a segui. Quando a encurralei e lhe perguntei o que estava fazendo, ela se virou e desapareceu na parede.
Bondurant enxugou os olhos, esperando apagar a lembrança do rosto da mulher. Aquela longa cicatriz, rindo para ele, ainda o atormentava.
— Ela tinha uma cicatriz na testa — descreveu Bondurant enquanto as palavras ecoavam no silêncio da sala. — Uma cicatriz de lobotomia. Feita de cima e não pelo nariz.
— Como ela estava vestida? Acho que ela usava roupas de hospital. — Kracowski sorriu e falou como se estivesse narrando um filme B de terror. — Naturalmente, já que provavelmente era o fantasma de um antigo paciente que morreu aqui anos atrás. O mal está entranhado nas paredes, não é, Bondurant? Mal, mal, MAL.
Swenson o estapeou. — Pare com isso, você está me assustando.
Kracowski riu. — Acho que nosso querido Francis está trabalhando até tarde muitas noites seguidas.
Para Bondurant, ele disse: — Lendo a Bíblia até altas horas? Ou é o uísque que normalmente preenche suas necessidades espirituais cotidianas?
Kracowski contentara sobre a bebida, o segredo que Bondurant fazia tanta força para ocultar, um que nem Deus, nem os diretores de Wendover, aprovariam. Ele, contudo, não conseguia responder em sua defesa porque, pela janelinha da porta da sala de reuniões, a mulher louca estava olhando para dentro, com aquele duplo sorriso maligno.
Kracowski, de costas para a porta, não conseguiria ver — se é que havia algo ali para ser visto.
— Não quero mais ouvir sandices sobre fantasmas — disse Kracowski. — Não falta muito para a vitória, por isso mantenha a cabeça no lugar até lá. A única coisa que importa é continuar meus tratamentos. Pelo bem das crianças.
— Pelo bem das crianças — repetiu Swenson.
— Pelo bem das crianças — ecoou Bondurant, olhando para a mulher na janelinha com um sorriso débil. Ela se fora, no entanto: desapareceu na parede ou nas brumas do tempo. Ou, quem sabe, de volta para os braços dos mortos.
CAPÍTULO 18
Vicky apareceu das sombras e cruzou o corredor. Fugir sorrateiramente do Salão Verde à noite era muito fácil. Ela adorava desafios e Wendover ainda não lhe tinha proporcionado um à altura, pelo menos no que diz respeito à segurança. Embora as portas dos fundos estivessem parafusadas e trancadas, algumas das entradas tinham que estar acessíveis em caso de incêndio.
Não, não havia entradas — as portas se abriam nos dois sentidos. Elas também podiam ser saídas.
Uma vez por semana, mais ou menos, ela costumava deitar-se na grama e olhar as estrelas ou contar as manchas azuladas da lua. Ela nunca se sentira tentada a pular o muro e fugir de verdade porque não conseguia imaginar nenhum destino que a permitisse escapar do seu próprio corpo grotesco. Ela era tão gorda que seria facilmente localizada, como um dirigível sobrevoando um campo de futebol.
O abrigo tinha um guarda noturno de segurança que, dentre outras tarefas, deveria apartar brigas entre os garotos e certificar que ninguém estava se drogando ou contrabandeando. Fazer vigilância contra fugas não estava entre suas atribuições. Ele provavelmente estava assistindo à TV na sala de recreação, matando um burrito com uma coca-cola grande e, no bolso, uma barra de chocolate recheada de creme de amendoim, daquelas que deixam o vômito marrom e arranham a garganta quando saem. Ele nunca a pegara, mesmo que ela passasse pisando como um elefante pelo corredor.
Vicky imaginou o que Freeman pensaria dela se esgueirando por ali. Ela se aproximou para ler o pensamento dele, ou “fazer triptrap”, como ele dizia, mas a mente dela estava anuviada. Os efeitos do último tratamento passaram. Ela conseguia captar um burburinho de pensamentos distantes, mas não saberia de onde tinham vindo. Não saberia nem se era só a imaginação dela.
Talvez não passasse da força do próprio pensamento ou o balbucio dos anjos — ou esquizofrenia.
Ela passou pela sala do Bondurant. Pela fresta da porta, via-se que estava com a luz acesa. O velho idiota provavelmente estava lá, fantasiando aplicar a palmatória nas garotas. Se ele tentasse fazê-la se curvar sobre a mesa, ela quebraria os óculos dele na cara — ou morreria tentando.
Ela ouviu vozes na sala de reuniões e viu alguém do lado de fora, em frente à porta. Ela se abaixou no canto do corredor, inclinou-se e esperou. O encanamento antigo nas paredes fazia barulho quando alguém dava descarga no andar superior. Vicky se curvou para frente e espichou o pescoço, mas o corredor estava vazio.
Bondurant, Dr. Kracowski e a vagabunda da Swenson levando um plá. Vicky passou pela sala de reuniões abaixada sob a janela, com a barriga apertada de tão dobrada. De lá, o caminho até a porta da frente era tranquilo. Embora bem iluminada, a entrada principal era a melhor opção para uma escapadela. A fechadura eletrônica estava piscando uma luzinha vermelha. Ninguém esperava que um dos internos se esgueirasse daquela forma, especialmente uma bolha de banha de duzentos quilos com pernas. Ela digitou o código seis-quatro-asterisco, empurrou a porta aberta e o doce ar da noite roçou sua pele.
O outono tinha um gosto, pelo menos nos Apalaches. A noite estava laranja-escuro, como uma abóbora, uma comida invisível que não estufava a barriga até o olho sair da órbita. A grama estava úmida e o gramado cintilava sob as luzes de segurança. Não se viam as montanhas, mas notava-se a silhueta da serra no horizonte. Ela correu descalça pela lateral do prédio.
Estava nos fundos do abrigo, passando por uma fileira de arbustos, quando ouviu um ruído nas sombras. Em algumas dessas caminhadas noturnas ela vira um coelho passando assustado. O som, no entanto, era de algo maior que um coelho — muito maior.
Ela se virou quando percebeu uma parte da sombra se destacando da escuridão da noite.
Foi a sorte. O guarda, surpreendido enquanto fazia um xixi nos loureiros, ou mandando para dentro sua barra de chocolate.
— Tá bem, você me pegou — lamentou ela. — Uma pena, aliás. A noite estava gloriosa.
— Não foi desta vez. — Não era o guarda.
— Deke?
— Eu mesmo, vômito-solto.
— Que é que você tá fazendo aqui fora?
— Caçando fada. Ainda não achei nenhuma.
Ela olhou em volta. A entrada dos fundos fica trancada a noite toda. O lago estava longe demais e, ainda que ela o conseguisse despistar no pinhal, ele provavelmente a alcançaria enquanto corria pelo gramado. Ela ainda podia gritar, esperando que alguém lá dentro do prédio a escutasse, mas todas as janelas para os fundos estavam escuras e as paredes eram muito grossas.
Deke deu alguns passos em direção a ela e o luar iluminou-lhe o rosto. Os olhos dele pareciam poças de óleo queimado. Ela não gostou do modo como ele sorria. Imaginou então se algum de seus amigos estariam agachado nos arbustos, esperando que ele tirasse sangue dela primeiro antes de eles pularem na presa. Gorda como era, ela tinha carne para alimentar todo mundo.
Ela se afastou um pouco, tentando não parecer assustada. A camisola dela estava ensopada na bainha. Deke a fitou como se conseguisse ver através do fino tecido de algodão. Monstro nojento, menino asqueroso. A hedionda e imensa barriga dela não era da conta de ninguém.
— Você disse que eu não ia conseguir te pegar, né? — disse Deke. — Não é o que o Magrão acha. Quer conhecer o Magrão? Ele tá querendo muito te conhecer. Desta vez ele não tá com nenhum complexo de édi-sei-lá-o-quê.
Deke abriu o zíper e Vicky saiu correndo em direção aos fundos do prédio. Uma escadaria antiga de concreto se projetava para baixo da área de descarga. Ela vira alguns funcionários irem lá no verão — eletricistas e outros caras com um monte de ferramentas nos cintos. No mês passado, descarregaram um caminhão carregando algo que parecia aquecedores de água gigantes.
Ela não sabia o que havia lá embaixo, mas naquela hora ela não tinha escolha.
Os pés descalços espalmavam-se no concreto. Por sorte, não haveria lixo nem cacos de vidro no chão. Pelo som, Deke estava ganhando terreno. Ela não ousaria olhar para trás. Ela chegou até ao local de descarga, cega numa nesga de escuridão.
— Eu achei que você fosse esperta — provocou Deke da escada. — Nada demais. Você veio direitinho pra um lugar onde ninguém vai ver a gente.
Ela estava com as mãos para frente, sentindo a escuridão, e continuou andando. O concreto vibrava levemente sob seus pés e o zumbido de máquinas barulhentas vinha de dentro da fundação. Ela passou raspando contra alguns canos, depois o metal liso das portas de serviço e finalmente a maçaneta da porta.
— Ei, lindinha, tá pronta pra sentir meu carinho? — Deke, sabendo que ela estava encurralada, estava tranquilo quanto o caminho à sua frente.
Vicky ficou contente por não conseguir ler a mente nojenta dele. Era muito pouco provável que as portas estivessem destrancadas...
Mas estavam. Um dos funcionários devia ter trabalhado até tarde e esqueceu de trancá-la. Vicky soube que Deke tinha escutado o ranger enferrujado da porta se abrindo quando ele gritou: — Tá entrando aí pra vomitar?
Ela não respondeu porque estava adentrando a escuridão do porão. Ela estava em vantagem, contanto que ficasse quieta. Presumindo que o local não fosse um labirinto de destroços perigosos, ela poderia entrar uns quatro metros, esperar Deke passar e, de fininho, se esgueirar por detrás dele. Ela passou abaixada numa esquina e fechou os olhos, concentrando sua percepção sensorial, rezando para que sua barriga não começasse a roncar.
Deke tropeçou em alguma coisa perto da porta. — Droga. — Depois, sussurrou num tom ameaçador: — Vômito-solto. Vem aqui, vem, vômito-solto. Tem um negócio aqui pra você. Vem pegar no Magrão, vem.
Ela sabia onde ele estava pelo farfalhar que produzia. O cheiro de álcool impregnava o ar úmido e rançoso. O estúpido deve ter saqueado a escrivaninha do Bondurant ou estava roubando frutas do refeitório para fazer bebida fermentada no dormitório. Ele estava passando dos limites com seu estoque limitado de neurônios — não que a morte cerebral fosse um grande passo para ele.
— Vômito-solto — gritou novamente, desta vez sem disfarçar sua ira. — Quero ver você falar difícil agora.
Vicky abriu os olhos. Eles se ajustaram à escuridão e ela viu um brilho azulado no fundo do porão. Deke estava agora a quase seis metros, arrastando-se em direção ao brilho. Se a respiração obesa dela não a denunciasse, Deke passaria direto por ela. Vicky estava prestes a esgueirar-se até a saída quando um ruído a deixou gelada.
Era um zumbido baixo e pulsante, como o som que supostamente um feto ouviria no útero — pulsação líquida da mãe. O piso vibrava sob seus pés e o brilho azulado ficou mais tênue. Deke grunhiu alguma coisa sobre um vidro quebrado.
O zumbido ficou mais alto e entrou num ritmo regular. Vicky ficou pálida e se curvou contra a parede para apoiar-se. Ela reconheceu o som. Não exatamente um som, mas uma pulsação, como nos tratamentos que Kracowski ministrara.
O brilho azulado pulsava sincronizadamente com o zumbido. Vicky se lembrou de estar brincando perto de subestações de eletricidade, aquelas que as pessoas diziam causar câncer de cérebro. Só que ali, no porão de Wendover, o som não era um guincho seco de uma rede elétrica: era uma coisa viva.
— Que porra é essa? — disse Deke, surpreso. — Ei, vômito-solto, você viu isso?
Deke penetrou ainda mais no porão. Vicky não conseguia mais ver seu vulto contra o brilho. Ela já podia escapar, mas a voz dele soou como se tivesse descoberto um tesouro, um cadáver, uma geladeira cheia de comida ou alguma coisa em que o bando dele gostasse de bater. Vicky deu uma olhada para o vão da porta atrás de si, amaldiçoou sua curiosidade e arrastou-se para frente, pois queria ver o que o impressionara.
Enquanto ela estivesse entre Deke e a porta, ela estaria bem. Talvez ela até descobrisse alguma coisa sobre o porão que a ajudaria a se ausentar sem permissão durante a noite. Uma porta lateral, uma escada escondida, informações possivelmente úteis no futuro. Quem sabe ela não teria descoberto um segredo de emagrecimento de alguma celebridade?
Ela seguiu Deke e o brilho ficou tão intenso que ela conseguiu ver, acima da cabeça, cabos e tubulações passando por ali. O porão se dividia em alguns corredores e Deke rumava pelo intermediário. Vicky o seguiu e supôs que estivessem debaixo da Sala Treze e do laboratório do Dr. Kracowski.
— Ei, você — gritou Deke. Primeiro Vicky achou que ele a estivesse chamando, mas depois uma sombra se destacou da escuridão. Vicky não sabia dizer se era um homem ou uma mulher. Na verdade, parecia assexuada, uma forma que vagamente sugeria ser um humano. O vulto passou pelo corredor principal, fugindo da luz.
Deke o seguiu. — Volta aqui, vômito-solto!
Vicky se ajoelhou atrás de uma fila de enormes tanques cilíndricos. Ela pôs a mão em um deles. Era frio ao toque. Acima dela, cabos e fios se entrecruzavam num padrão que seguia um projeto elaborado, uma superteia tecnológica.
A voz de Deke vinha mais do interior do corredor, seguida de um eco abafado. — Ei, você não consegue se esconder de mim, sua retardada.
Pé ante pé, Vicky chegou à entrada do corredor. Embora o brilho vindo da sala aberta se estendesse somente uns quatro metros corredor afora, Vicky conseguiu distinguir uma sequência de portas alinhadas nas paredes do corredor. Abaixada em caso de Deke se virar para trás, ela foi até a primeira porta da sua direita.
Na altura da cabeça, a porta tinha uma janelinha de vidro reforçado. Atrás do vidro havia uma grade de metal, como que para impedir que fosse quebrado por dentro — como num frigorífico em que as vacas ainda estivessem vivas e putas da vida.
Ela ficou na ponta dos pés e espiou. Detrás do vidro da janelinha, um rosto pálido a observava. Ela percebeu, então, tratar-se do próprio reflexo, duplicado pelo sanduíche de vidro. Céus, as bochechas dela eram mesmo enormes assim? Ela exalou lentamente e aspirou longamente o ar rançoso do porão.
Gorda estúpida. Já não basta ser perseguida por um pervertido, esgueirar-se na escuridão e ainda por cima começar a ver fantasmas de novo.
— Vem aqui sentir o carinho gostoso do Deke — gritou o garoto na escuridão mais à frente no corredor. Se ele gritasse um pouquinho mais alto, os conselheiros poderiam ouvi-lo através do piso. Vicky não queria ser pega de novo por causa da estupidez do Deke. Se as outras crianças descobrissem que ela e Deke estavam juntos no porão, o estoque de comentários rudes duraria para sempre.
Ela sabia que devia sair dali, mas antes queria ver a sala.
Ela empurrou a porta e a abriu. A sala parecia mais uma cela: pequena, quadrada, sem janelas. O brilho azulado era suficiente para fazê-la ver as paredes. Elas tinham uma textura esquisita, embora estivessem estufadas de mofo e manchadas. Ela entrou, atenta aos sons de Deke, e encostou a mão na parede mais próxima. Era macia.
Revestida de lona almofadada.
Uma cela acolchoada.
Ela recuou, com água gelada correndo nas veias. Mais adiante no corredor, mais dessas salas. Quantas pessoas não penaram ali, com seus gritos sorvidos pelas paredes, suas orações quicando nas barras de metal, seus sonhos tragados pela rocha fria que encerrava a fundação de Wendover?
Quantas?
Deke gritou na escuridão ao longe e Vicky cambaleou em direção aos geradores reluzentes e os cilindros de metal, passando por eles até a porta e, depois, até o lado de fora. Ela inspirou a todos pulmões o ar noturno e nunca estivera tão grata por ver as estrelas. Quando sua pulsação diminuiu um pouco e ela conseguiu respirar, subiu a escada e fez o mesmo caminho de volta ao Salão Verde com os gritos de Deke ainda ressoando nos ouvidos.
CAPÍTULO 19
— A senhora não acredita em mim — disse Freeman, mexendo-se na cadeira, irritado como sempre ficava quando algum psicólogo tentava vampirizar sua alma.
Starlene Rogers se sentou opostamente à ele, vestindo um moletom de universidade e calças femininas, com as pernas dobradas como se estivesse preparada para uma longa sessão de ioga. — Acredito em você, a menos que esteja mentindo.
Ela o trouxera para a Quatro, uma das salas pequenas, com assentos frente a frente quando o assunto era importante e a conversa, direta — um lugar para se contorcer, mentir e tentar esquecer quando algum sabe-tudo queria extrair sentimentos de alguém.
Freeman, porém, era inflexível como Eastwood, sua pele era um couro, seu comportamento era à prova de bala. A atuação levada ao seu apogeu. E daí se Starlene estivesse tentando fazer seus truquezinhos amabilidosos? Freeman esperaria até passar. Ele já analisara dezenas de analistas, sobrevivera a muitos profissionais e resistira a muitos filhos-da-puta. O pai dele, por exemplo, o lobo perverso sob a ponte.
O segredo era saber como ocultar, atravessar a ponte pé ante pé e sonhar somente na segurança da noite — ou ir direto ao ponto e acabar logo com eles.
— Não estou mentindo — disse ele. — Eu consigo ouvir o pensamento dos outros. Eu sei o que a pessoa está pensando, acontece às vezes. E aprendi que a maioria das pessoas são umas imbecis. Elas só querem saber de programas de TV, dinheiro e botar os outros para fazerem coisas pra elas.
— Freeman, você está ciente do seu ciclo de mania e depressão. A mania faz as pessoas acreditarem que têm superpoderes.
— É real. É uma das coisas que eu tenho certeza.
Starlene se inclinou para frente, um daqueles gestos treinados para indicar que se importava com o paciente. Depois ela provavelmente tocaria o joelho dele. — Mas não há provas científicas contundentes da existência da percepção extrassensorial.
— O Kracowski fez o tal joguinho das cartas com a senhorita? Talvez fosse bom a senhora perguntar ao seu amigo Randy sobre isso.
— Que é que o Randy tem a ver com isso?
— Ele já falou da Fundação com a senhora?
— A Fundação?
— Deixa pra lá. Melhor a senhora não saber.
— Eu não posso ajudá-lo a menos que você se abra — disse ela. — A confiança, sim é uma fundação sólida.
— Olha, eu sabia que a senhora ia dizer isso. A senhora é como os outros: não consegue ver que eu sou diferente. Eu não mereço ficar trancado aqui com um monte de gente tapada.
— Você acha a Vicky tapada?
Freeman observou o modo com que Starlene mantinha fixos os olhos nas anotações dela, como se estivesse com medo de olhar para ele. Todos tinham medo quando ele ficava assim. E era bom que tivessem, porque ele faria triptrap nas suas mentes pequenas e tristes e jogaria com eles. Ele os veria através de seus olhos, vasculharia suas lembranças, os faria pagar e também...
— Freeman. Sente-se, por favor.
Freeman piscou. Ele estava perto da porta. Ele não se lembrava de ter levantado. Ele voltou até a cadeira onde estava sentado.
— A Vicky é tapada? — perguntou Starlene anotando alguma coisa no seu bloco.
— Ela é legal.
— Para uma garota, você diz?
— Ah, não, até a senhora com isso também? Já escutei muito ela mesma dizendo isso.
— Eu vi você e ela no lago ontem.
— A gente estava conversando.
— Conversando.
— É, foi. — Ele usava um discurso oco e empolado, marca registrada do Pacino, um solilóquio de cinema que enumerava as falhas miseráveis e patéticas de Deus e do universo. — Estávamos falando de ler a mente das pessoas. E eu sei o que a senhora vai dizer, que não sabe por que ela e eu conversamos se podemos ler a mente um do outro.
— Não, eu não ia falar isso.
— O que a senhora ia dizer, então?
Starlene guardou a caneta e o bloco na bolsa de macramê do lado da cadeira. Ela reclinou para trás, cruzou os braços e fechou os olhos. — Diga-me você.
Os braços de Freeman começaram a coçar. Ele deveria ter tomado o remédio. Ele não o deixava extrapolar quando estava na fase de mania, quando seus pensamentos eram lanças geladas e bilhantes e o mundo era nítido, e quando ele conseguiria escalar uma montanha se o deixassem usar as pernas. O medicamento, porém, o deixava embotado, abrandando todos aqueles medos. Ele precisava dos medos — eles o mantinham vivo. Eles seguravam o lobo sob a sombra da ponte, de onde não conseguiria pegá-lo e devorá-lo.
Fazia-o sobreviver. Um dia ele sairia daquele lugar e seria livre. Ele passaria a perna em todo mundo. Até em Deus. Por enquanto, porém, ele precisava invadir a mente da psicóloga. Era um bom começo.
Ele fechou os olhos. Tentou se lembrar da sensação que tivera na Treze, quando as máquinas do Kracowski estavam a todo o vapor e colocaram seu cérebro numa montanha-russa. Ele até forçou as pernas para que tremessem um pouco. Starlene, no entanto, era uma muralha de pedra. Se ela tivesse algum pensamento além do bem-estar de Freeman, ela os tinha enterrado muito fundo.
— Diga-me o que estou pensando, Freeman — desafiou ela com a voz paciente.
O pescoço dele começou a suar. Ele não podia falhar, não depois de tanto se gabar. Mesmo se ela o tivesse bloqueado dessa vez, ele ainda tinha tudo o que captara na Treze depois do tratamento.
— A senhora tem um gato chamado T.S. Eliot.
As sobrancelhas de Starlene se arquearam. — Como foi que descobriu isso?
— Fazendo triptrap, como eu tinha dito à senhora. — Ele tentou de novo, subindo num elevador supersônico até o topo desse mundo grotesco. Ele não deixaria nenhuma psicóloga idiota o sobrepujar. Se pelo menos ele soubesse quem diabos era T.S. Eliot. O nome soava familiar. Um personagem de filme?
Alguém bateu na porta. Freeman fez menção de se levantar para abri-la, mas Starlene levantou a mão. — Quem é? — perguntou ela, sussurrando para ele.
Freeman fechou os olhos e fez triptrap até o outro lado da ponte, abriu o céu imenso lá dentro e foi atingido por gritos como milhares de socos do pai.
Ele engasgou e caiu no chão, e os gritos continuaram a atravessá-lo, arrancando seus cabelos pela raiz, arrancando-lhe as unhas, massacrando-lhe o tórax, golpeando-lhe os pulmões no peito e comendo-lhe a língua.
Eles estão embaixo.
Em seguida, ele conseguiu vencê-los nas salas escuras por onde andavam suas sombras.
Algo o puxara de volta e ele ouviu a voz de Starlene como se projetada do outro lado de um desfiladeiro. — Freeman? Você está bem?
Ele decididamente não estava nada bem: fazer triptrap nunca o deixara assim, talvez uma vez ou outra, mas ele passou a ler a mente de dezenas de mentes, talvez milhares.
E não eram mentes comuns.
Deus é um telefone e a Bíblia foi escrita com merda nas paredes, os chapéus são parte de uma conspiração do governo, como você pode contar até doze se não pode dizer números ímpares?, eu sou uma árvore eu sou uma árvore eu sou uma árvore e vou embora.
Sabe a diferença entre os médicos e os pacientes?, é que os pacientes vão pra casa no fim do dia.
Se você se matar, o remédio fica mais gostoso.
Papelzinho, papelzinho lindo, um espaço branquinho, branquinho pra escrever.
E mais e muitas palavras mais e pensamentos e coisas que não eram pensamentos, mas partes de emoções fragmentadas emendadas uma na outra e através delas os queixumes ficavam mais altos, as vozes se combinavam num só grito, a cabeça de Freeman estava prestes a explodir e ele se afastou e fez triptrap reverso, mas era como escalar as paredes escorregadias de um poço escuro e a água embaixo era a voz, que ficava mais alta e o grito era canalizado por ele como um relâmpago líquido e Starlene o sacudiu, seus ossos se chocavam contra o piso e ele abriu os olhos e Ó Deus piedoso ele estava na salinha de novo, ele sentia o chão duro na bochecha, as lágrimas eram tão doces, era a realidade, ele nunca desejaria sair de seus próprios pensamentos de novo e alguém bateu na porta...
— Freeman? Que foi? — perguntou Starlene, ajoelhando-se sobre ele e segurando-o pelos ombros.
Ele pressionou a língua contra os dentes para se certificar de que ela ainda estava lá. — Eles estão embaixo.
Ela se abaixou; ele sentia a respiração dela no rosto. — Sua pulsação disparou.
— Eles disseram: “Bem-vindo à festa”.
— Quem?
Bateram na porta de novo. Do outro lado da porta, Bondurant gritou: — Que é que está havendo aí? A senhorita tinha autorização para isso?
Freeman se pôs de pé. Ele não queria ficar no chão, não com eles lá embaixo.
Enquanto o último eco de grito sumia numa das curvas de seu crânio, uma voz feminina solitária se sobressaiu, calma e cristalina, dizendo uma só palavra: “livres”.
CAPÍTULO 20
— Precisamos ir ao lago — disse Freeman. Vicky entendeu imediatamente como um novo código, uma linguagem secreta só deles.
Ela não conseguia ler os pensamentos dele tão bem quanto conseguiu fazê-lo acreditar no dia anterior. Ela, porém, precisava atravessar um pouco a confusão da cabeça dele, passar pelo meio de campo e chegar logo no cerne de tudo. O negócio não era nada bom e, pela primeira vez na vida, não achou que sobreviveria por ela mesma.
— É só não tentar segurar minha mão, essas coisas — avisou enquanto eles desciam o caminho que dava nas pedras.
— Vou deixar isso pro Deke.
— Deixa de ser idiota. Alguém mijou no seu copo hoje na hora do café? Você está estranha hoje, e olha que você...
Freeman desacelerou quando saíram das vistas dos conselheiros, depois puxou Vicky para uma moita de rododendro. — Eu vi eles — disse.
— Eles? — Vicky sentiu o sangue sumir da face.
— As pessoas lá embaixo.
— Eles, os mesmos eles.
— Você viu eles?
— Ontem à noite, eu... — será que Freeman acreditaria nela? Ela não sabia também se conseguiria guardar o que vira para si. Ele não faria triptrap na cabeça dela; como não estava sentindo aquele comichão estranho, ele não teria certeza se o que ela estava prestes a contar era verdade ou não.
— Me conta — disse ele. — Eu não vou rir de você.
Claro. Ninguém nunca ria dela. Vômito-solto era superapreciativo, com certeza. O pai dela nunca a criticara, nunca, de verdade verdadeira. A mãe nunca a trancara no quarto com um pacote de biscoito recheado. E Vicky, lógico, adorava o que via quando se olhava no espelho. Claro.
Grande coisa se Freeman risse. Ele era só outro garoto que se achava o machão só por ter nascido o primeiro pelo pubiano, e era senso comum que todos os homens são uns idiotas. Portanto, mesmo que Freeman fosse um idiota-em-treinamento, ela conseguiria defletir qualquer risada como uma Mulher Maravilha obesa desviando balas com seu bracelete dourado.
— Eu vi um fantasma — disse ela, antes que tivesse tempo de pensar pela terceira vez se ele acreditaria nela ou não.
— Você... tipo, foi uma percepção sua, o que foi?
— Não. Eu vi com meus próprios olhos. Eu fugi aqui pra fora ontem à noite...
— Aqui pra fora? Tá dizendo que conseguiu sair do prédio? — perguntou Freeman apontando para detrás das pedras em direção a Wendover.
— É, mas isso não é o que importa. Bom, o Deke me perseguiu no porão...
— Você veio aqui pra fora com o Deke?
Será que eram lampejos de ciúme no rosto dele? — Se você ficar me interrompendo, não vai saber o que aconteceu. Deke me perseguiu até o porão e eu me escondi no escuro. Tinha um monte de equipamento esquisito lá: geradores, tanques, um monte de coisa. Acho que tem a ver com as experiências do Kracowski. Tem um monte de salas lá embaixo também; parecem uns quartos de hospital ou celas de prisão. Deke entrou num dos corredores e eu fui seguindo atrás.
— Eis o poder do amor.
— Cala a boca. Nós vimos alguém e eu pensei que era o guarda noturno esquisito lá em baixo, vendo revista de mulher pelada e comendo chocolate. Só que a pessoa tinha um brilho e era esquiva pra caramba. Não consegui ver direito, mas o Deke seguiu o troço até uma das salas. O vulto começou a gemer, a chorar...
— Deke, com medo do escuro? Quero ver quando os valentões descobrirem.
— Ele gritou, eu me assustei e fui embora. Mas eu sei o que eu vi. E era um fantasma.
— Não era o homem do lago?
Ela sentia o cheiro da água, mas as pedras o escondiam. Será que o velho não estaria por ali, fazendo seu milagre da caminhada? — Não, acho que era uma mulher, se é que gente morta tem sexo.
— Que nojo.
— Tipo, será que gente morta é homem ou mulher? Eles não precisam se reproduzir, né?
— Acho que eles ficam como eram em vida. O velho parece um homem, não parece? Pelo menos foi o que a gente viu.
— Não sei o que aconteceu com Deke, mas eu ainda não vi ele hoje.
— Ele não estava no Salão Azul de manhã.
— Bom, parece que nenhum dos conselheiros está preocupado. Eles estariam loucos por aí correndo feito galinha sem cabeça se alguém tivesse fugido.
— Eles são galinhas sem cabeça. Como você acha que eles viraram psicólogos?
Vicky riu apesar da observação inadequada. Freeman era esquisito, sem dúvida, talvez esquisito o bastante para acreditar nela um pouco mais.
Freeman a pegou pelo braço, apertando sua carne gorda. — Shhh.
— Tem alguém vindo pela trilha. Não, dois alguéns.
Vicky se espremeu para dentro da moita, mas os ramos não eram densos o bastante para escondê-los totalmente. — Vamos correr? — sussurrou ela.
— Por quê? Não fizemos nada de errado.
O Dr. Kracowski passou por eles acompanhado pela Dra. Swenson. Vicky tapou com a mão a boca de Freeman. Sua beligerância maníaca poderia levá-lo a gritar um insulto. Ela queria ver aonde estavam indo porque o andar do casal era de conspiradores, alerta e silencioso. Para espionar gente furtiva, é preciso ser furtivo também.
Quando o casal desapareceu numa curva da trilha, Vicky disse: — Vamos segui-los.
— Você está mesmo na pilha de seguir os outros, né?
— É, eu gosto de espionar. Você não tem nenhuma curiosidade?
— Tenho para matar o gato, mas desconfio que ele comeu rato envenenado. E é por isso que não é legal ficar xeretando por aí.
— Ah! Olha quem fala: o sensitivo que adora dizer que lê pensamento na cabeça dos outros. Você não fica na sua, por que eu tenho que ficar na minha?
— Tá bem, tá bem. Vamos lá.
Eles saíram da touceira e Vicky arranhou os braços nas folhagens. Eles escalaram as pedras e desceram numa fenda escura no granito. Os dois médicos pararam à beira d’água perto de uns bordos ainda jovens. Era a única parte da margem do lago que não se via de Wendover.
Vicky e Freeman se esconderam na sombra das pedras e esperaram. Eles falaram num tom baixo por um momento. O rosto de Vicky coçou e ela lutou para não espirrar. Freeman apertou a mão dela. Como ele conseguia tocar essa pelanca nojenta?
Um homem veio pelo caminho na direção oposta. Ele estava vestindo calças largas de algodão e camiseta branca com os dois botões de cima abertos. Ele tinha um tórax largo, era moreno, baixo e usava óculos escuros. Era bem evidente que o homem estava tentando se disfarçar como um turista que visitava as montanhas.
— Doutores — disse o homem à guisa de saudação.
— Olá, McDonald — disse Kracowski, estendendo a mão para cumprimentar o homem. Swenson ficou em silêncio ao lado dele.
— O senhor quer saber de ontem à noite? Capturamos o menino perambulando pelo porão.
Freeman apertou ainda mais a mão de Vicky. O visitante, vendo-se confortável por não estar sendo visto por mais ninguém, tirou os óculos escuros. Os olhos dele eram frios como mármore.
— Foi um azar infeliz — disse Kracowski. — O guarda noturno foi repreendido por isso. O garoto viu alguma coisa?
— Viu o bastante. Vamos ter que fazer uma lavagem cerebral nele o quanto antes.
— Por favor — disse Kracowski. — Não gosto dessa palavra.
— Tudo bem, doutor. Como é que você chama? Realinhamento sináptico? Sua técnica pode ser nova, mas a nossa tem um registro respeitável.
— Tão respeitável que seus chefes estão interessados pelo meu trabalho.
— Todos nós trabalhamos para o mesmo chefe. E não se esqueça de quem financiou seu equipamento. Você acha que é barato comprar nitrogênio líquido, supercondutores avançados? Isso sem falar nas medidas de segurança adicionais que vamos ter que tomar a partir de agora.
— O senhor paga pelo meu trabalho, mas não pela minha pessoa. — Kracowski se ajoelhou perto do lago e ficou olhando para a água. — Que é que a gente faz então?
— Nada — respondeu McDonald. — Tudo continua como antes. Vamos trazer gente nossa. Bondurant não vai aguentar o rojão.
Kracowski se levantou abruptamente. — Você prometeu que ninguém interferiria.
— Nosso investimento é grande e precisamos protegê-lo. Esperamos resultados.
— Tudo será divulgado quando chegar a hora. É uma descoberta incrível e não estou certo se o seu pessoal entende as implicações do meu trabalho.
— Expulsando as crianças do parquinho. — O homem riu e Kracowski travou as mandíbulas. — Aqui não é a CIA e a KGB competindo para ver quem entorta mais colher com telepatia. É maior que qualquer governo. Você trabalha para a Fundação: não se esqueça.
— Não é só isso — observou Kracowski. — Ainda pode ter efeitos colaterais que eu não considerei.
Swenson finalmente falou: — Não se preocupe com as crianças. Nenhuma delas mostrou danos em longo prazo. De qualquer forma, não há nenhum vestígio que leve até os tratamentos.
— Não é disso que estou falando. — Kracowski olhou de novo para o outro lado do lago. — Estou falando do velho de camisolão.
Vicky conteve um engasgo com o coração disparado. O rosto de Freeman empalideceu e ele mordeu o lábio. Então Kracowski sabia do fantasma. Eles não estavam vendo coisas.
— Você também não acredita nessas histórias, não é? — questionou Swenson. — Bondurant é um bêbado idiota.
— Starlene Rogers não é. E outros devem ter conversado sobre isso.
— Melhor manter sua equipe na linha, senão vamos tomar totalmente o controle — disse McDonald. — Você não é o único que trabalha com técnicas de PES.
— Não me ameace — retrucou Kracowski.
— Não se preocupe — disse o homem. — Não ia ser legal alguém bagunçando sua caixa de areia, não é mesmo? Só não deixe que o garoto Mills perceba que é um fantoche.
Kracowski se avermelhou e avançou em direção ao homem. Vicky achou que Kracowski ia dar um soco, mas Swenson o puxou pelo ombro e o deteve.
— Deixa pra lá, Richard — disse ela.
— Espião filho-da-puta — resmungou Kracowski.
— Você não deveria me odiar — disse o homem. — Sou a melhor coisa que já lhe aconteceu. Você tem um laboratório com os equipamentos mais avançados que um orçamento secreto pode comprar e tem um suprimento infinito de cobaiazinhas. Você está no paraíso dos cientistas loucos.
— Na verdade, sempre que você aparece, este lugar fica parecendo com o oposto disso.
McDonald riu. — Nunca achei que o Dr. Richard Kracowski fosse vir com essa de “mais sagrado que vós”. Guarde essas besteiras pras crianças. Tenho um trabalho a fazer e ele será feito de um jeito ou de outro.
O sorriso indiferente do homem se desfez e suas sobrancelhas se arquearam, como se, de repente, ele fosse de ferro. — Eu sei que você é muito cheio de si, mas é só um personagem de uma história um pouco maior. O papai pode cortar sua mesada assim, ó.
O homem estalou os dedos dando ênfase à frase e, dessa vez, Vicky teve certeza de que Kracowski ia avançar nele. No entanto, ele só se virou e olhou para o lago de novo. McDonald deu uma olhada em volta mais uma vez e Vicky puxou Freeman para dentro dos arbustos. O homem trocou olhares com Swenson, voltou pela trilha e desapareceu, indo em direção à cerca no fundo da propriedade.
Swenson se aproximou de Kracowski e passou o braço em torno dele. — Eles são só uma maneira de você conseguir o que quer — disse ela. — Sabemos que não se trata só de uma busca pela verdade. Estamos usando a eles mais do que eles a nós.
— Eles não sabem de todas as implicações — comentou Kracowski. — É maior que qualquer governo, que qualquer político e que qualquer milionário com brinquedos de gente grande nas mãos. É sobre a linha que separa a vida e a morte entre este mundo e o outro; é sobre derrubar as barreiras fundamentais da mente.
— Mas precisamos de mais provas.
— Não quero que a Fundação saiba demais. Eu tomei cuidado para deixar a pesquisa dividida com cada parte colocada em um lugar diferente. Os melhores hackers do McDonald levariam anos para juntar tudo.
— Você não confia em ninguém, não é, Richard? — Ela o abraçou com mais força.
— Confiança... é a única qualidade que a Terapia de Sinergia Sináptica não consegue conferir aos pacientes.
— Que é que a gente faz então?
— Mais pesquisa; mais trabalho; mais pacientes.
— Você acha mesmo que estamos chegando perto da resposta?
Kracowski apontou com a cabeça a superfície do lago. — Pergunte para ele.
Virou-se e voltou para Wendover. Depois de alguns segundos, Swenson o seguiu.
Depois de irem embora, Vicky relaxou os músculos da barriga. — Que é que tá acontecendo? — sussurrou ela.
Freeman balançou a cabeça. — Clint Eastwood em Poder absoluto. Disfarces duplos.
Atrás deles, o ruído de um graveto se quebrando.
CAPÍTULO 21
— Crianças, vocês não deveriam estar aqui — disse Starlene.
— Ah, tá tudo bem, olha: a gente está de roupa — retrucou Vicky. Freeman golpeou o ar com a mão aberta simulando estapear Vicky.
Starlene queria lhes perguntar sobre Kracowski e Swenson, que cruzaram com ela na trilha. Ela, porém, não achava que espionar, fazer fofoca e principalmente ler pensamentos eram pensamentos cristãos respeitáveis. Em vez disso, disse-lhes: — Vocês vieram procurar o velho?
— Ah, aquele em quem você não acredita? — perguntou Freeman.
— Não disse isso. E também não disse que o que você passou ontem não foi real.
— Você só acha que eu pensei que aconteceu, tipo um sonho, não é?
Starlene temia afastar Freeman para sempre se continuasse a duvidar dele. No entanto, ela fora treinada para não se permitir embarcar nas fantasias dele. Mesmo que ela tivesse aceitado a possibilidade da existência de fantasmas por causa de seus próprios encontros, não estava pronta para admitir o fato de que Freeman conseguia ler pensamentos. — Nós fazemos nossas próprias realidades.
— Especialmente as pessoas no porão.
Starlene olhou para Vicky pedindo-lhe ajuda. A garota baixou os olhos. Ela era aliada de Freeman.
— Não tem ninguém no porão, Freeman — argumentou Starlene.
Vicky se agitou, mexendo os cotovelos e as mãos ossudas enquanto falava. — Como você sabe? Você já foi lá embaixo?
Starlene balançou a cabeça. — Não, mas a porta fica trancada. As entradas para o poço das escadas também ficam.
— A senhora não ia acreditar em tudo o que tem lá embaixo: um monte de equipamento de última geração, cilindros, canos, geradores, fios... E umas celas velhas horríveis.
— Do que é que vocês estão falando?
— Vamos lá, eu vou lhe mostrar. — Ela saiu da touceira de rododentros e pôs-se a guiá-los pela trilha. — Eu fui lá ontem à noite.
Na hora em que chegaram até o gramado, o sinal soou e as crianças se reuniram para entrar. Starlene acenou para Randy. Ele estivera de folga naquela noite. Se Starlene não fosse tão teimosa, ela estaria de folga também e talvez eles pudessem ir ao cinema juntos. Talvez Randy a beijasse sem tentar enfiar a língua toda em sua boca. Talvez ele até conversasse com ela acerca do que se passava em Wendover.
Naquela noite, porém, ela precisava ficar lá — não só pelas crianças, mas por ela também. O velho não era mero fruto da sua imaginação, afinal outras pessoas também o viram. Será que um milagre aconteceria ali? Essas visões aconteciam ainda nos dias de hoje? Deus ainda mandava mensagens ao seu povo amado?
Enquanto se aproximavam do prédio, Starlene viu que Bondurant os observava da janela da sala dele. Ele não acenou.
— Hora de irmos lá — disse Starlene a Freeman e Vicky.
— Uma coisa de cada vez. — Vicky se abaixou sob a plataforma da escada e desceu os degraus que levavam ao porão. Starlene ficou observando de cima da escada enquanto Vicky pulou, empurrou a porta e, em seguida, bateu nela com o ombro.
— Droga — disse Vicky. — Juro que ontem à noite ela estava aberta. — Ela apontou para um enorme e reluzente ferrolho com tranca. — É, isso é novo.
— Venha para cá — chamou Starlene.
— Você não acredita nela — disse Freeman.
— Você está lendo a minha mente ou é só a sua opinião?
— A senhora não sabe tudo só porque é psicóloga. — Freeman passou por ela e desceu até Vicky. Eles sussurraram entre si por um momento e começaram a subir juntos a escada.
— Desculpe — disse Vicky. — Eu inventei isso tudo.
— É — concordou Freeman. — Nós não vimos nenhum homem andando sobre a água e não entramos na mente das pessoas que vivem no porão. Mas tudo bem a gente errar. Afinal somos perturbados mesmo, né? Somos o erro da sociedade.
Soou o segundo sinal, indicando que estavam atrasados para o almoço. — Olhem — disse Starlene. — Vocês não precisam me odiar. É difícil pra mim manter minha conduta clínica, mas é necessário que seja assim.
— Confiança — disse Freeman como se estivesse cuspindo. — Não é uma daquelas suas palavrinhas?
Freeman e Vicky saíram da plataforma e entraram no prédio. Starlene foi atrás deles um pouco, depois hesitou. Ela desceu correndo as escadas até o porão. O cadeado da porta parecia mesmo ser novo — não havia um arranhãozinho nele. Havia limalha, rebarbas de metal e restos de cimento em pequenos montes no chão. O equipamento estava recém-instalado.
— Será que isso tudo é para não chegarmos até eles ou para eles não virem até nós? — Bondurant sorriu para ela do topo da escada. Sem esperar uma resposta, disse: — A senhora os viu, não é?
— Quem?
— Os que vivem dentro das paredes. — Bondurant deu um passo lento em direção a um degrau inferior. Seu rosto estava vermelho brilhante e os olhos enfurecidos. Ele deu um tapinha na fundação de pedra do edifício. — Aqueles que Deus não deixou entrar no paraíso.
— É... é melhor eu ir embora. Tenho uma sessão de grupo depois do almoço.
Bondurant apalpou o bolso e desceu mais dois degraus. Tirou do bolso uma chave. — Não quer ir lá ver?
Ele titubeou enquanto descia e Starlene achou que rolaria escada abaixo, mas ele segurou no corrimão e recuperou o equilíbrio. O cheiro de uísque rescendeu pela alcova entulhada sob a plataforma. O diretor de Wendover estava bêbado como um gambá.
— Sr. Bondurant, parece que o senhor não está muito bem. Acho que o senhor deveria repousar um pouco.
— Se eu fizer isso, é capaz de cair no sono. — Ele já tinha quase terminado de descer a escada e Starlene pensou se devia ou não passar rente por ele e ir embora. Ainda que ele conhecesse alguns versos da Bíblia e professasse sua fé em Cristo, ela nunca confiara muito nele. O homem, contudo, poderia acabar com a carreira dela com uma referência negativa. Embora parecesse um insano demente, com cabelo oleoso e bagunçado, olheiras roxas em torno do olho e mãos trêmulas, ele ainda tinha grande influência dentro do sistema de assistência clínica comportamental do estado.
— Ah, por favor, me chame de Francis — disse ele chiando as sibilantes. Ele deixara de lado o cuidado no falar. Ela se afastou para o lado enquanto ele tentava enfiar a chave na fechadura. — Maldita burocracia.
Ele passou os olhos injetados sobre ela, percorrendo seu corpo de alto a baixo como uma cesta cheia de cobras até a boca. — Já é um horror ser regulado pelo estado; agora vem o governo federal e diz: “Faz isso, faz aquilo”. Esse papo de direitos das crianças, como se nós fôssemos os malvados.
Ele lambeu os lábios e Starlene percebeu por que as crianças o comparavam com um réptil. — A gente faz o que pode — confortou ela.
— Faz sim, pode crer. — Na quarta tentativa, a chave entrou na fechadura e o ferrolho abriu. — Estamos a serviço do Senhor, mas essa sucessão de decepções ficam atrapalhando o verdadeiro trabalho. E sabe que trabalho é esse?
— Cura. Carinho. Cuidado.
Ele deu um pontapé na porta e ela se abriu. — Claro que não. O trabalho mesmo é ficar bem nos números. É o que faz o dinheiro chegar. É por isso que Kracowski foi a melhor coisa que já lhe aconteceu a Wendover.
Bondurant gritou para o poço da escada. — Tá ouvindo, Kracowski? Você é a melhor coisa que já aconteceu.
Starlene manteve-se afastada de Bondurant, que ficava oscilando para frente e para trás no batente da porta. Ela não resistia em olhar o porão por cima dos ombros dele.
Bondurant estendeu a mão e deu um sorriso sinuoso: — Tem medo do escuro?
Sua vontade foi responder: “Tenho mais medo de VOCÊ”. Essa, porém, pode ser a única chance de ver o que tem dentro do porão. Vicky e Freeman tentaram contar-lhe alguma coisa, mas ela não conseguira superar os preconceitos de sua educação para escutá-los. Talvez a fé fosse um preconceito também. A porta estava aberta. Entrar ou não só dependia dela.
— Ela sorria pra mim — contou-lhe Bondurant aspergindo a saliva alcoólica.
— Quem?
— A mulher. A mulher na parede.
Starlene mal o ouvia depois de ver um brilho que emanava de dentro do porão. Era uma meia-luz sinistra e desconfortável. Ela se sentiu atraída, arrastada para dentro quase como que contra a vontade. Detrás dela, Bondurant se aproximou com seu fedor tão repelente quanto o calor do corpo.
— Ela está aqui — sussurrou ele, fechando a porta atrás deles. Starlene sabia que seria um passo perigoso, que o imbecil bêbado poderia fazer algo embaraçoso, mas os medos dela foram sobrepujados pelo que ela via diante dos olhos.
Os cilindros de metal eram de se admirar, perfilados em colunas com serpentinas e cabos a lhes revestir. O cabeamento que Vicky tentara descrever rodeava o teto e vários tamanhos de conduítes passavam sobre eles. Um conjunto aparentemente caríssimo de máquinas se alinhava às paredes por detrás dos tanques. A tecnologia contrastavam nitidamente com o cinza embolorado do alicerce, mas não era isso que fazia o sangue de Starlene congelar nas veias.
Uma velha, a “mulher na parede” de Bondurant, estava parada sob o brilho dos componentes do gerador.
A mulher tinha uma horrível cicatriz que lhe atravessava a testa; as rugas faciais eram tão profundas que pareciam ser o efeito de centenas de anos de gravidade. Os olhos da mulher estavam fundos no crânio como as aberturas de pequenas cavernas, buracos que não permitiam a entrada de luz. Pelos farrapos que a mulher vestia, ela parecia ser extremamente desleixada.
O primeiro instinto de Starlene foi o de ajudar a mulher. — Que você está fazendo aqui?
A boca da mulher se abriu lentamente. Bondurant puxara um frasco de algum lugar e pôs-se a entorpecer seu sistema nervoso central. — Ela vive aqui — disse ele depois de tirar o gargalo da boca.
— Aqui? — Depois do conjunto de tanques no meio do porão, uma série de corredores escuros saíam da área do piso principal. Starlene viu algumas portas que indicavam sombras até mais profundas.
— Quer dizer, quando não está nas paredes — completou Bondurant.
Os lábios da mulher se moveram de novo lentamente e Starlene achou que a mulher ia falar. Ou talvez não fosse som o que a mulher emitia porque Starlene sentiu uma fisgada no topo da coluna e, num lampejo, as palavras “um espaço branquinho, branquinho pra escrever” passaram pela cabeça dela e, depois, sumiram. Só que não era uma voz de uma senhora, mas de um homem.
Bondurant passou o braço em torno de Starlene num gesto advindo mais da bebedeira e de um sentimento paternal que de uma tensão sexual. — Nós temos muito disso aqui. Eles são o melhor tipo de paciente que se consegue imaginar. Não é preciso alimentá-los, eles nunca reclamam e não tem nenhum desgraçado do Serviço Social querendo quebrar sua perna.
— O senhor está dizendo que eles ficam aqui embaixo? — As teias de aranha, o piso de concreto manchado e o odor úmido e perverso faziam com que o porão parecesse mais adequado para uma colônia de ratos.
— Eles não ficam aqui o tempo todo. Eles ficavam, depois eles passaram para as paredes. Agora eles saem às vezes. — Bondurant acenou para o teto, indicando as salas acima deles.
Eles dominaram tudo de cima abaixo.
As palavras estavam lá, dentro da mente de Starlene como se dubladas num filme. Os lábios da mulher não se moviam, mas Starlene tinha certeza de que as palavras eram dela.
Metade do meu cérebro me diz que eu tenho que contar a alguém sobre isso, sobre o que fizeram.
A outra metade, eu não tenho.
Talvez Freeman estivesse mesmo falando a verdade. Ele mostrou muita habilidade em ler a mente durante sua sessão com ela, mas a percepção extrassensorial foi meio estranha, um pouco fora do normal, um pouco como algo que Deus nunca permitiria. Mesmo assim, havia homens andando sobre as águas e desaparecendo, tipos meio agentes secretos fechando negócios com médicos e equipamentos caríssimos escondidos que não condiziam com o orçamento de um abrigo para menores como Wendover.
— Quem é você? — perguntou Starlene à mulher.
A mulher nada disse: virou o corpo atarracado e deslizou em direção à sombra. As pernas de Starlene só começaram a obedecer ao cérebro quando ela chegou à passagem estreita no corredor principal.
— Você quer mesmo voltar lá? — perguntou Bondurant.
— Ela precisa de ajuda — respondeu Starlene, irritada. — Como é que o senhor consegue ficar aí parado sabendo que ela está vivendo aqui embaixo nessa imundície?
A risada bêbada de Bondurant ricocheteou pelas paredes de pedra. — Acho que ela não está “vivendo” coisa nenhuma.
Starlene se deteve a meio caminho, sem fôlego, por entre os cilindros de metais. Na frente dela, a mulher simplesmente desapareceu.
As últimas palavras da mulher reverberavam na caixa craniana de Starlene: “a outra metade, eu não tenho”. É hora de encontrar a outra metade.
CAPÍTULO 22
— Starlene desceu lá — contou Freeman. Abaixaram o som da TV na sala de recreação na hora de um comercial de comida para gatos. Ele olhou pela janela o sol que imergia por detrás das montanhas impossivelmente distantes. Clint Eastwood em Fuga de Alcatraz.
Vicky acabara de “terminar” a refeição e os conselheiros não notaram que ela só comera uma colher de comida. Freeman não tinha apetite, por isso saiu do refeitório mais cedo. Era permitido esperar na sala de recreação perto dos escritórios enquanto as outras crianças comiam. Randy lançara um olhar suspeito para eles, que foi interrompido por uma gritaria entre Raymond e um valentão de segundo escalão que provavelmente estava jogando para ficar com o trono do Deke.
— Acho que Starlene vai descobrir por si mesma — supôs Vicky. — É impossível tentar achar um sentido no jeito de pensar dos adultos. Eles acham que já sabem tudo.
— Ela não é má, não como o Lagartão ou o doutor Cracolândia.
— Quem você acha que são aquelas pessoas lá embaixo?
Freeman olhou para o feio tapete enrolado sob seus pés. Ele concentrou o foco, mantendo intencionalmente a atenção acima do nível do chão. Ele sabia que não teve forças para fazer triptrap na mente dos que ficavam lá embaixo, mas não faria outra avaliação naquele momento. — Não tenho certeza, mas por algum motivo, eles estão errados.
— Você acredita em fantasma?
— Não, mas isso não impede que os fantasmas acreditem em mim. Eu também não acreditava em PES, até que ela pulou em cima de mim e me mordeu.
— E no resto, você acredita?
— Às vezes.
Vicky se sentou na poltrona com o forro rasgado e cruzou as perninhas magras. — De noite, quando as outras meninas já estão dormindo, eu falo com Deus.
— Olha, isso é que é PES.
— Tô falando sério. E eu sinto que Ele fala comigo também.
— Starlene fez um trabalho bom contigo, né? Pelo jeito você já tá vestindo a camisa. Bom, sua vida melhorou depois que você começou a alimentar um relacionamento pessoal significativo com um ser que você não consegue ver?
— Por que você é sempre assim defensivo com as coisas que não têm a ver com a sua vida?
— Por que você vomita sempre que come?
Vicky apontou para a cicatriz no pulso de Freeman. — Você desaparece do seu jeito e eu desapareço do meu.
Freeman saiu da janela e foi até a entrada da sala de recreação. Através das portas de vidro do refeitório, ele conseguia ver os conselheiros curvados sobre seus pratos. Para ir embora, bastava caminhar. Ninguém sequer notaria a falta dele, não até as sessões de grupo depois do jantar.
Ele marchou pelo corredor passando pelo escritório principal. As luzes do escritório estavam desligadas e Bondurant não estava por lá. Vicky chamou Freeman, mas ele fingiu não ouvir. Ela não era a única que sabia escapar. Ele já fazia isso há anos — dentro e fora da cabeça.
Freeman parou na entrada principal. Uma luz do sistema de segurança piscava ao lado de uma fechadura eletrônica com código. A barra de destravamento da porta dispararia um alarme. Ainda assim, se ele corresse o bastante até chegar à cerca dos fundos da propriedade, bastava atravessar os campos e se esconder no bosque. De lá, ele tomaria a direção certa até chegar...
Onde?
Ele não tinha aonde ir.
Como sempre. Ele se encostou contra o vidro frio e foi deslizando até ficar sentado no chão. Vicky o aguardava.
— Eu sei o código — disse ela. — É assim que eu consigo escapar.
— O que você fez? Leu a mente do guarda noturno?
— Não. A Cynthia fez... coisas com ele em troca.
— A Cynthia também quer fugir?
— Não, acho que ela só gosta de fazer isso. Ela me contou o que fez e eu não acreditei nela, aí ela me deu o código. Acho que ela queria me chocar.
— E funcionou?
— Já ouvi histórias piores. Como quando você disse ter feito triptrap na minha cabeça e não ter medo do que encontrou lá. Isso é muito pior.
Freeman olhou para cima. Os olhos de Vicky se inflamavam. Mesmo se conseguisse fazer triptrap na cabeça dela naquele momento, ele não ousaria. Ela apertou três teclas, uma luz verde piscou e ela empurrou a porta.
O ar noturno dos Apalaches roçou-lhes o rosto, afastando o cheiro de mofo de Wendover. Freeman rapidamente se pôs de pé, pegou Vicky pela mão e saíram correndo silenciosamente pelo gramado. A grama estava úmida com o orvalho da noite e os tênis de Freeman estavam ensopados antes que chegassem aos rochedos. Uma das janelas do primeiro andar acendeu, mas eles não pararam.
— Será que este é o melhor caminho? — perguntou Freeman.
— Tem um lugar do outro lado do lago em que dá pra gente subir num pinheiro e pular por cima da cerca. Embaixo tem uns loureiros. Acho que a gente sai arranhado, mas sem quebrar nada.
— Parece que você já fez isso antes.
— Você não é o único que tem segredos.
Eles diminuíram o passo quando chegaram às pedras e Freeman soltou a mão de Vicky. A lua estava quase cheia e reluzia sobre a tez nua do lago. Entre os trechos esparsos de floresta, um luar prateado se espalhava pelo chão. Enquanto iam pelo caminho, Freeman aguçava a audição para ouvir o mais tênue som.
Não foi um som, mas uma visão que os fez parar.
Eles fizeram a curva e o velho de camisolão estava de pé no caminho na frente deles.
— Vocês não podem ir por aí — disse o homem, ou talvez não tivesse dito com a boca, mas com o pensamento dentro da cabeça de Freeman. Os lábios dele não se moveram, só se abriram como se o homem quisesse tomar fôlego sem conseguir.
— Ouviu isso? — sussurrou Vicky.
Freeman assentiu com a cabeça. — Eu nem fiz triptrap.
O homem ficou lá, imóvel. O luar incidia sobre a pele do homem passando pelos rasgos do seu traje. A pele dele era leitosa, translúcida, como se um cutucão fosse o bastante para varar-lhe a carne.
— Quem é você? — perguntou Freeman, imaginando se haveria mesmo a necessidade de falar para ser ouvido.
— Eu moro aqui — respondeu o homem de alguma forma. Ele acenou a mão para o lago. — Eu dormia aqui, mas eles me acordaram.
— Eles? — perguntou Vicky.
— Eu fiquei com eles.
Freeman olhou atrás de Vicky. Ele não sabia dizer se estava com mais medo do homem ou do Bondurant, do Kracowski e do que estava acontecendo em Wendover, o que quer que fosse. Eles podiam passar batido pelo homem e alcançar a cerca. Mesmo se o homem tivesse algum músculo debaixo da camisola, ele parecia ter uns sessenta quilos.
— Eu te vi no abrigo — disse Freeman, acenando na escuridão em direção a Wendover. — Você está dizendo que mora aqui?
— Aqui, lá, em lugar nenhum — disse-lhes o homem mentalmente — dá no mesmo.
— Você está... você está morto? — perguntou Vicky.
— Morto, não. Não mais. Os mortos vão dormir. Os mortos têm sorte.
Freeman recuou um pouco e encostou nos ramos dos rododendros. — Você é uma das pessoas que vivem lá embaixo, não é? Os que vivem como mortos.
— Vocês não podem ir por aí.
— Nós não queremos voltar para o abrigo. Estamos com medo.
Vicky deu um olhar para Freeman de “até um cara corajoso com olhos de cobra tem seus momentos de fraqueza de vez em quando”.
— Vocês não podem ir por aí — repetiu o homem com uma voz de vento perdido sobre um túmulo vazio.
— Estamos com pressa — disse Freeman. — A qualquer momento os conselheiros vão dar a nossa falta.
— Por favor — pediu Vicky. — Não fizemos nada com você.
O velho olhou sobre o lago com os olhos pálidos como a água. — Não é tão ruim se afogar.
Freeman afastou Vicky do velho com o cotovelo e ficou entre um e outro. — Você não vai nos machucar. Eu não vou deixar.
Os lábios do homem finalmente se mexeram, traçando um sorriso enrugado que podia ter ocultado uma luz contida. — Eu não preciso machucar vocês. Eles já estão fazendo isso melhor do que eu poderia. Wendover pega a gente mais cedo ou mais tarde.
Enquanto eles observavam, a forma do homem foi se atenuando, se embaçando, até que os contornos se fundiram com a noite enluarada. Seu corpo se dividiu em nesgas leitosas, que se desfizeram até sobrar somente uma névoa pálida no ar. A névoa flutuou pelo caminho pelo declive gramado do barranco até a margem do lago. Lá ela lentamente se dissolveu e Vicky e Freeman ficaram só com o cricrilar dos grilos e as tíbias luzinhas dos vagalumes no matagal.
As palavras do velho surgiam novamente como que do céu, caindo como neve: Vocês não podem ir por aí.
Os dois ficaram em silêncio por um momento. O coração de Freeman pulsava tão forte que ele sentia a pulsação nas têmporas. Uma rã coaxou e chapinhou na água. Da escuridão além do rododendro, uma coruja piou.
— Vamos — sussurrou Freeman.
— Mas ele disse...
— Quem tá ligando pro que ele disse? Ele foi embora e, além do mais, está morto. Que é que ele pode fazer conosco?
— Não tô gostando nada.
Freeman lançou os olhos para o céu noturno. A luz tinha subido um pouco mais. O chão estava bem iluminado e eles poderiam andar bastante se não parassem. Numa fuga séria, cada minuto conta.
— Você confia em mim? — perguntou ele.
— Confiança não significa nada. Você confiava na Starlene Rogers, mas a deixou em Wendover, naquele porão horrível. Nem preciso dizer o que aconteceu com ela.
— Ela é adulta. Ela é um deles: o inimigo. Você tem que passar por cima de quem fica no seu caminho, igual ao Robert de Niro em Touro indomável. Ela acabaria te reduzindo a nada se desse meia chance a ela.
— Eu não vou ser nada mesmo.
— Algum dia a gente acaba virando nada. Mas a gente tem que continuar tentando, desviando, correndo o máximo que puder. Não sei você, mas eu não vou desistir sem lutar.
Vicky se afastou dele e se sentou sobre uma pedra chata na beira do caminho. — E eu achei que você era corajoso. Você me enganou direitinho, sabia?
Freeman continuou andando em direção à beira d’água. Ele olhou para a água do lago onde a névoa desapareceu.
— Você até que daria um tipo babaca igual ao Deke — disse ela. — Mas você não consegue olhar pra si mesmo. Você banca o durão, mas não é de nada. Você tá com medo igual todo mundo aqui. Clint Eastwood, uma ova.
— Não é por aí. Você não sabe nada sobre mim.
— Eu entrei na sua mente, lembra? O triptrap funciona em mão dupla quando a gente faz com alguém que sabe fazer também.
— Você não viu nada. Meu passado está trancafiado aqui dentro. Já superei aquilo tudo. Nada mais daquilo me incomoda.
— Menos o seu pai. E o que ele fez.
Freeman cerrou as mãos em punhos. Ele não perderia essa. Não como o Clint Eastwood em Perseguidor implacável — embora isso pudesse ser ótimo se acontecesse.
Um calor o invadiu e ele lutou contra a dor de suas memórias. Ele não ia chorar na frente de uma garota idiota, especialmente uma pele-e-osso como ela, tão transtornada que não conseguia comer uma colher sequer de alimento sólido. Quem era ela para dizer o que acontecia na cabeça dele? Os melhores psiquiatras do estado não conseguiram tocar nos pensamentos dele. Ele nasceu de corpo e mente fechados.
— Eu sei sobre o maçarico — disse ela calmamente. As ondas morriam na margem do lago com uma série de suspiros fatigados.
— Ele não me queimou de propósito.
— Na primeira vez, não. E você sabe o que aconteceu com a sua mãe. O que você viu...
Freeman se virou e partiu para cima dela. Ele a poderia partir ao meio de tão esquelética e frágil. Um tapa dele seria o bastante para esmagar o crânio dela como uma casca de ovo. Ele poderia mexer no rosto dela inteiro até ela calar aquela bocona gorda.
— Você não sabe nada do meu pai, nem da minha mãe, nem de mim — gritou, tão alto que ele conseguia ouvir o próprio eco sobre a água, Qualquer um que estivesse escutando de Wendover conseguiria ouvi-los, mas ele não ligou.
— Admite que você tem medo e eu vou te mostrar a saída.
Freeman já mentiu muitas e muitas vezes na vida. A mentira era uma técnica para sobreviver no sistema quando se é um erro da sociedade. Naquele momento, ele poderia mentir e continuar seu caminho. Ele poderia enganar a Vicky fazendo-a pensar que ele tinha medo, já que as meninas parecem detectar emoções de raiva e de medo misturadas. Ele poderia brincar com ela, manipulá-la como estava acostumado a fazer com qualquer psicólogo e assistente social do estado.
Freeman, entretanto, não mentiria — não dessa vez. — Não tenho medo. Só quero ver como é viver uma noite sob as estrelas, não ter ninguém pra me dizer a que horas eu tenho que ir dormir, quando eu tenho que acordar ou me fazer entrar em contato com as minhas emoções. Ou ficar me aplicando choque como se eu fosse um macaco de laboratório até eu fazer truques e dar cambalhota. Mesmo se nos pegarem, preciso de uma noite pra eu ser dono de mim mesmo.
— Sabe de uma coisa, Freeman? Você é um babaca egoísta. Tem garotos lá que te admiram, como o Isaac e aquele garoto, o Fraldinha...
— Para um moleque chato, ele até que tá bem.
— Tá vendo? Até a Cynthia disse que te achava legal. Você dá esperança pros outros, Freeman, mas você não faz outra coisa a não ser olhar pro próprio umbigo. Você só quer fugir daqui.
— Olha quem fala.
— Eu só dou uma escapadinha. Eu não sei se consigo suportar o mundo que me espera fora daqui.
— Mais um motivo pra fugir. — A ira de Freeman se fora, deixando o espírito dele como um pneu furado.
Vicky persistiu. — Será que o velho do lago vai voltar?
— Ele disse que a gente não podia seguir este caminho. Mas eu acho que ele é tão ruim quanto o resto, que tenta deixar a gente enjaulado. Até os mortos estão contra nós.
Vicky riu, uma sonoridade fora de lugar na calmaria da noite. — Você pega pesado mesmo, hein? Tá muito defendido pro meu gosto.
— Você pode ficar aqui se quiser. Pra mim já chega.
Freeman saiu com passos pesados e lentos pela trilha. Ele tentou se convencer de que era a bruma no lago que embaçou sua visão, mas a verdade corrói como sal. Clint Eastwood nunca chorava. Clint Eastwood também nunca olhava para trás.
Ele ganhou velocidade, esperando que o ar fresco nos pulmões o entorpecesse um pouco. A trilha se estreitou e os galhos lhe chicoteavam o rosto. Logo ele estava entre os altos carvalhos e nogueiras-pecãs que margeavam os fundos da propriedade. Como a folhagem bloqueava o luar, ele se moveu lentamente no silêncio da escuridão em meio ao cheiro de peixe do lago que, nesse momento, se misturava com o odor de folhas mortas.
Ele chegou à cerca e a lua encontrou uma brecha nos ramos acima. A luz incidia sobre o arame farpado que se enrolava sobre a cerca. Postes ostentavam isoladores e algumas linhas de fios desencapados passavam pelo topo do muro de pedra. A eletricidade zunia no ar ozonizado.
Eles eletrificaram a cerca dos fundos.
O fantasma do homem tentou avisá-los. Alguém não queria que eles fossem embora. Um rosnado grave veio dos bosques sombrios além da cerca. Freeman achou que pudesse ser um lobo rosnando, uma criatura monstruosa cujas presas rasgariam carne, triturariam ossos, um animal cuja língua limparia um crânio de suas vísceras e sua carne.
Freeman não sentiu um medo assim desde...
Ele expôs ao luar o pulso marcado pela cicatriz. Havia mais de um jeito de fugir. Só que, se ele morresse ali, poderia se tornar um dos que viviam lá embaixo, os loucos de pedra, os assustados, os obsediados, os esquecidos.
A escória eterna.
Aqueles que nem Deus poderia salvar, os que nunca foram defendidos nem protegidos por ninguém, condenados a procurar alguma paz num ossuário de insanos dirigido pelos insanos.
Freeman suspeitou que aquela era uma luta que teria até Clint Eastwood e seus dois companheiros de seis balas.
CAPÍTULO 23
Bondurant se aproximou de Starlene por trás. Deus de vez em quando envia essas provações e já dera a Bondurant grande grau de liberdade. Deus perdoava a bebedeira, sorria quando ele punia as crianças e desviava o olhar quando Bondurant falsificava os relatórios do estado. Deus perdoava, exatamente como prometido no Livro Sagrado. Deus amava os pecadores, talvez até mais que amava os santos.
Às vezes ele deixava os pecadores se arrastarem de dentro do inferno só para fazê-los ver o que perderam. Aquele porão era algo muito próximo do inferno, provocando em Bondurant o hálito frio e odioso das coisas mortas.
— O que significa isso tudo? — perguntou Starlene sem compreender o âmbito dessa nova realidade.
Como se tudo tivesse um significado. Quando se entrega a Deus, tudo passa a fazer parte do plano. Um tempo para isso e para aquilo e tudo o mais, qualquer coisa dita pelo Livro do Eclesiastes — para qualquer tempo e qualquer baboseira feliz.
Isso, porém, ficaria para depois. Naquele momento, bastava que ele afastasse da cabeça aquelas vozes fantasmagóricas tempo o bastante para que ele colocasse Starlene no caminho da retidão.
— Não ligue para ela — disse Bondurant.
— Quem era? O que era? — Starlene perscrutou a escuridão como se pudesse extrair as visões daquelas paredes em que se tinham evaporado.
— Nada. Só mais um truque de ilusão de óptica do Kracowski.
— Kracowski? Essa aparelhagem toda é para isso? Pros tratamentos dele?
— É a obra do Senhor.
Ouviram-se sons vindos do corredor escuro. Não era um fantasma. Era algo maior e real, algo que não era usado para a escuridão. Os fantasmas são sempre silenciosos. Mesmo quando eles “falavam”, ainda se ouvia o crepitar da chama de uma vela.
O brilho emitido pelas máquinas de Kracowski delineava os cabelos de Starlene iluminando-a com uma aura. Bondurant esticou uma mão trêmula para puni-la. Esses dois pestinhas, Freeman e Vicky, sabiam que ele estava lá em baixo com Starlene. Eles provavelmente contariam a Randy ou a um dos outros conselheiros. Ele teria de se apressar para aproveitar a oportunidade de fazê-la pagar por seus pecados.
— Quem está aí? — Starlene gritou no sombrio corredor escancarado.
Ele quis muito que ela calasse a boca, que para ele só servia para uma coisa: desculpar-se perante a Deus por sua alma voluntariosa e devassa. Por que ela desperdiçava sua faculdade de falar com perguntas tolas?
Bondurant tocou-a nos cabelos e tentou agarrá-la por eles, mas ela escapou. A vadia o estava ignorando.
Eu, Francis Bondurant, diretor de Wendover, membro do Conselho de Serviço Social do estado, tenho poderes para, com um carimbo, acabar com carreiras como a sua. Vou lhe dar uma lição para colocá-la no seu lugar, ah se vou. Deixe eu pegar minha palmatória e vou ensinar a senhorita a não se meter onde não é chamada.
Bondurant a seguiu até o círculo de luz azul. Ele cambaleou um pouco e caiu chocando-se contra um dos tanques. Ele era frio ao toque. Ele se refez e foi na direção dela. Ela continuou andando pelo corredor.
Perfeito. Se ele a encurralasse numa das antigas células, ele a trancaria lá dentro, cumpriria sua missão e seria absolvido a tempo de comparecer à sua reunião depois do jantar. As celas eram nojentas, infestadas de ratos, e ele a deixaria lá até que implorasse perdão perante Deus. Os fantasmas de Kracowski podiam ficar olhando se quisessem, contanto que não ficassem enfiando coisas malucas na cabeça dele de novo.
Ele já estava farto de coisas malucas.
Palavras insanas que o Senhor Deus podia não aprovar, mas que, contanto que Bondurant não as proferisse, tudo seria perdoado. De qualquer forma, tudo seria perdoado porque Jesus era um cara bem assim.
Starlene entrara no bloco das celas e o fedor de podre e mofo fez o estômago de Bondurant se revirar. Ele empurrou para dentro a ácida bile de uísque e tateou o reboco grosso da parede enquanto passava.
— Você tem medo do escuro? — perguntou ele.
Escuro não anda, escuro não anda, escuro não faz nada: só ri, só ri, só ri.
A princípio Bondurant achou que Starlene falara alguma coisa porque ela parou perto da porta da primeira cela. A voz, porém, não era dela: era de um dos fantasmas do Kracowski.
— Ouviu isso? — sussurrou Starlene.
— Deus fala em muitas línguas — disse Bondurant.
Ela não sabia o suficiente para ignorar as vozes. Bondurant quase se molhou quando viu pela primeira vez aquela senhora alquebrada e esfarrapada com a cicatriz na testa. Quando os espíritos começaram a falar com ele, fazendo-o ouvir as palavras em pensamento, ele quase marcou uma sessão de terapia com um dos conselheiros. Ele, porém, já se expusera a um número suficiente de conselheiros que quase os conseguia sintonizar, como se estivessem numa mundana e irritante estação de rádio.
Ele conseguia ignorá-los, mas não calá-los; por isso, aceitava que se manifestassem. Eram inofensivos como animais de estimação que não comem ração.
Você não pode me deixar aqui. Não sabe quem eu sou? Sou Eleanor Roosevelt, seus tolos. Não reconhecem o meu chapéu?
— Eleanor Roosevelt — disse Starlene.
— Não lhes dê ouvidos — advertiu Bondurant. — Eles estão tentando enlouquecer você.
— Que está acontecendo aqui? Eu não acredito em nada disso.
Descrente. Ela parou de se mover e isso deu espaço para Bondurant. Tirar vantagem da fraqueza alheia: é assim que o mundo funciona. O retângulo preto da abertura da porta ficou contra a turva luz azul do corredor. Ele poderia enfiá-la ali...
Mais alguns passos.
Aquele som de novo. Quase engolida pela passagem escura do corredor. Algo maior que um espectro.
Talvez fosse mais de um. Um desfile de mortos, uma comunhão dos criminalmente insanos, fileiras em busca de seu motivo disperso, sussurrando nas paredes como ratos mutantes, marchando em insurreição infundada contra os agitadores de suas almas lastimáveis.
Eles não tinham o direito.
Eles eram os aprisionados e ele era o carcereito.
Wendover era dele, não era? Já não bastava o Kracowski ter se mudado para lá com suas máquinas e teorias e seu financiamento secreto, agora esses espíritos inquietos e idiotas invadiram seu domínio e mudaram as regras, bagunçavam sua cabeça, faziam-no pensar seus pensamentos esquisitos, impingiam-no sua dor, forçavam-no a demonstrar empatia.
Um espaço branquinho, branquinho pra escrever.
Não, de novo, não. A mesma voz, a mesma frase sem parar. Esta vinha de uma voz masculina esganiçada, sempre num ritmo diferente, mas com as mesmas palavras na mesma ordem, uma eterna revisão que sempre produzia o mesmo resultado. Louco que nem um percevejo escroto.
Louco que nem um percevejo escroto.
Opa, espera aí. Será que ele pensou aquilo ou será mais um eco fantasmagórico dentro da cabeça dele?
— Você ouviu isso? — perguntou a Starlene, envergonhado por ter falseado a voz. Ele não admitia fraquezas. Era ele que se aproveitava das fraquezas alheias. Wendover era dele.
— Louco que nem um percevejo... aquilo? — disso Starlene. — Ouvi, ouvi sim.
Starlene saiu de perto do batente da porta, arruinando a oportunidade que Bondurant aguardava para trancá-la numa tumba temporária. Ele estava muito bêbado e, na escuridão, perdera o seu rastro. Ele raspava os nós dos dedos ao longo das paredes, esfregando a carne no reboco áspero. Ele chupou o sangue do ferimento.
Mais alguns passos.
Hora de recreação na ala dos condenados.
— Que está acontecendo, Sr. Bondurant?
Nada, era só o mundo virando de ponta-cabeça e Starlene, cegada pela pureza, não conseguia perceber. Era o marco zero do Armagedom, o local da primeira prova de fé.
A escuridão chegava a ser sólida, opressiva como a sensação de vestir roupa molhada, forçando contra os olhos e os tímpanos dele, passando pela sua boca, agitando-se nos pulmões e...
A outra metade, eu não tenho.
Ela.
A da cicatriz.
Ela estava com eles em algum lugar nas trevas, sussurrando-lhe palavras na cabeça mesmo quando ele NÃO QUERIA PALAVRA NENHUMA LÁ.
Bondurant perdera o rastro de Starlene. Ele chegou a uma interseção de corredores e tentou escutar os passos dela. Ele só ouviu um arrastar de pés. Ele tinha dificuldade em se concentrar com tantas vozes na cabeça. As fileiras de celas eram bocas invisíveis sussurrando as coisas mais frenéticas e sujas.
Um espaço branquinho, branquinho...
... minha mulher é um chapéu...
... deuses de lata e espantalhos de metal...
... pilussexediondartística...
... sete nove onze treze...
Ele tentou restabelecer seu fôlego para conseguir localizar Starlene na escuridão, mas ele estava oscilando muito entre raiva e medo e confusão e coisas entrando e saindo das paredes.
A tela em branco na frente dele ficava cinza claro e depois uma sugestão indistinta de forma.
Logo em seguida ela apareceu.
Ela tinha um brilho suave, estava nua, com o rosto sombreado e o restante difuso numa luz amarela. Ela era a puta da Babilônia e a mãe de toda a criação, uma virgem promíscua com uma performance impressionante.
— É um milagre! — exclamou Starlene de algum lugar à sua esquerda.
Na luz emanada pela mulher, Bondurant viu Starlene encostada na parede, arrastando-se contra a entrada de uma cela. Ele só deu uma olhada nela porque aquela mulher nua e diáfana atraía toda a sua atenção.
A beleza da mulher era tanta que, perto dela, a saudável Starlene era uma pálida visão. Bondurant deu um passo em direção à mulher. Ele estava boquiaberto, a garganta dela estava como o corredor à frente deles: uma treva densa que se alongava para uma escuridão ainda mais profunda. A mulher estava sorrindo, exibindo um número maior de dentes que o normal.
Um tempo para plantar e um tempo para colher.
As palavras oscilavam em torno de seu crânio como um alarme de despertador caído no fundo de um poço.
Louco que nem um percevejo percevejo percevejo.
A mulher estendeu os braços como se quisesse abraçá-lo e, apesar do medo e do terror, Bondurant sentiu uma excitação entre as pernas.
Bondurant percebeu o que a mulher tinha de diferente porque seus olhos percorreram o vulto de cima abaixo, brincou com as curvas dela em pensamento, lambia os lábios enquanto a imaginava em suas mãos estendidas, deslizando a mais macia das peles enquanto ele aplicava nela a punição que toda mulher merece. Por último, ele a olhou nos olhos.
Olhos que nada viam.
As orbitas estavam vazias. A pele esgarçada em torno exibia rugas entalhadas por unhas.
A voz dela chegou como uma chuva de granizo: São para melhor te ver, minha querida, preciosa e meiga Chapeuzinho Vermelho.
Ela abriu as mãos e mostrou-lhes os olhos soltos com um pingente de carne dependurado de cada um deles.
Starlene deu um grito.
Bondurant pôs-se a rezar, lançou um jato de vômito nos sapatos e cambaleou para trás na escuridão.
A Milagreira sorriu — tantos dentes, mas pouco olhos.
CAPÍTULO 24
Kracowski olhou para a tela do computador e verificou os medidores. — Cento e doze miligauss — disse.
Paula, de pé atrás da cadeira dele, massageava seus ombros. — São só números, querido.
Kracowski sabia que não fazia diferença dizer para as paredes ou para Paula, mas ultimamente ele andava falando para paredes demais. — Essas anomalias não são o que eu esperava. A terapia de sinergia sináptica foi elaborada para curar meus pacientes e não para provocar vivências subjetivas.
— Bom, os dados PES são coerentes o bastante para convencer até os mais céticos. E tudo é subjetivo, querido.
— Exceto a verdade.
Ele limpou o medidor e alterou as coordenadas para detectar outra área do porão. — Olhe esses picos. Os campos eletromagnéticos criados pelo meu equipamento deveriam estar coerentes e constantes. Estes aqui estão em toda parte.
— E daí? Se está te incomodando, ignora.
— Não dá pra ignorar. Essas leituras não estão coerentes com a minha teoria.
— Então muda a teoria.
Kracowski empurrou a cadeira para longe da mesa. — Eu tinha tanta certeza de que estava certo.
— Você está certo, Richard. Você só encontrou mais resultados do que esperava.
Ele foi ao espelho bidirecional e olhou para a penumbra que preenchia a Sala Treze. Ele ajudara aquelas crianças. Ele alinhara sua mente até um estado de harmonia. Ele as restaurou, deixando-as inteiras e curou o que as opiniões religiosas como as de Bondurant chamam de “almas”.
Alma não existe. O corpo humano é um pacote complexo de substâncias químicas, principalmente água. O cérebro nada mais é que uma série de impulsos eletromagnéticos. Pensamentos e sonhos são um alinhamento meramente aleatório desses impulsos. Desejos, esperanças, amor, medo, tudo são padrões específicos de atividade neuronal, uma série de interruptores em processo de liga e desliga. Não importa se o número de possibilidades fosse praticamente infinito. “Praticamente” era a palavra-chave. Tudo tem limites.
Dinheiro.
Não compra felicidade e Kracowski descobriu essa verdade acima de tudo.
Amor.
Um conjunto tão aclamado e idolatrado de distúrbios mentais específicos, louvado por poetas desde o início da história humana, perseguido pelos fracos que esperam uma cura milagrosa para suas deficiências, adotado pelas massas com algo digno de sacrifício. Se eles soubessem que Kracowski poderia criar uma série de comprimentos de onda que alinham as sinapses de forma que o paciente viva todas aquelas sensações físicas e emocionais: aceleração da pulsação, dilatação da pupila, rubor, aumento de fluxo de sangue nas zonas erógenas.
Os tolos se apaixonam, é verdade. A pesquisa já revelara que os recém-apaixonados mostram os mesmos padrões sinápticos que os diagnosticados com transtorno obsessivo-compulsivo. Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume.
Fé.
A fé é um recurso autolimitado. A fé era a resposta a sua própria pergunta, uma lógica circular que satisfazia os simplórios. Não importa se o chamassem de Deus ou Buda ou Alá ou Lua ou Krishna. Não importa se fosse preciso ajoelhar ou subir as montanhas até um monastério do Himalaia ou em qualquer estabelecimento moderno de lavagem cerebral chamados templos, igrejas e sinagogas. Toda fé religiosa era egoísta porque todos os crentes basicamente procuram salvar a si mesmos e não ao próximo.
Ciência.
Ah, essa realmente pode não ter limites. Ou: a disciplina responsável por impô-los. Verdade. Conhecimento. Fatos. Provas irrefutáveis e dados.
Isso sim era algo digno de ser reverenciado.
Exceto quando os fatos sugeriam que a verdade completa nunca deveria ser compreendida.
Era o que estava acontecendo naquele momento.
Telepatia e clarividência eram teoricamente possíveis, desde que se acreditasse que os impulsos elétricos do cérebro não ficavam confinados ao corpo. Ele aceitaria um mundo mental em interseção com o mundo do espaço-tempo. No entanto, a existência de um espírito separado do corpo era uma dose alta demais de idiotice metafísica.
Ela dera o ponto inicial, os resumos e dados que o pessoal do McDonald compilara na década anterior, todo o material acumulado dos experimentos do Dr. Kenneth Mills. A PES podia ser produzida como uma capacidade inata que poderia ser induzida a partir de um equilíbrio entre campos de força e choque sistêmico. Seus últimos experimentos, porém, se inclinaram para o espiritual, o improvável, o inacreditável. Tudo isso o incomodava, bagunçava a harmonia de suas próprias sinapses, desalinhava seus padrões neurais e perturbava sua visão clara do universo — deixava-o furioso.
— Que é que você está pensando em fazer? — perguntou Paula.
Ele bateu de leve a testa no espelho algumas vezes. — Estou pensando em você, querida. O que mais seria? Que mais?
— Eu adoro quando você fala assim.
O ar estava saturado com o perfume dela. Se ela soubesse que os feromônios naturais da transpiração eram muito mais atraentes sexualmente para um ser humano masculino do que o perfume que ela usava... Todavia, era um modo de ela satisfazer uma necessidade — e ela era temporária. Ademais, o botão da ventilação da sala estava sempre ao alcance dele.
— Ei, o que é isto? — perguntou ela.
Ela apontou para uma das telas de vídeo que monitoravam o equipamento no porão. A imagem era esverdeada e difusa. A Fundação bancou um sistema caríssimo de ressonância magnética remota, gastou milhões em magnetos supercondutores e circuitos avançados, mas o sistema de infravermelho era de qualidade inferior. Kracowski só conseguia ver um borrão leve de movimento.
— Ninguém deveria ter acesso ao porão — disse Kracowski. — Esse equipamento é delicado.
— Achei que o McDonald tinha colocado uns guardas lá embaixo.
— Eles têm ordens de não chegar perto do equipamento. — Mesmo tendo dito isso, lembrou-se das palavras de McDonald durante a instalação do equipamento. “As ordens podem mudar”, dissera o McDonald, ex-milico desgraçado.
Kracowski observou a tela. Um dos vultos se separou da turbidez esverdeada e recuou.
— Bondurant.
— O que ele está fazendo lá embaixo? — perguntou Paula.
— Ele é o único funcionário que tem chave.
— Olha ali, tem alguém com ele lá embaixo.
Kracowski blasfemou um deus em que não acreditava. A atração magnética de um tomógrafo de ressonância magnética era cerca de 20 mil vezes mais forte que os campos magnéticos da Terra, ou seja, forte o bastante para arrancar um marca-passo do peito de um paciente. É por isso que, antes de exames de ressonância, os pacientes passam por um extenso questionário.
O equipamento no porão gerava um campo cem vezes mais forte que isso, ao menos em determinados pontos localizados. O campo magnético era forte o bastante para zunir e criar eletricidade estática e microchoques. Se as flutuações anormais continuassem, havia o perigo de ele atrair e arrastar equipamentos do outro lado da parede. Uma peça solta de metal poderia voar pelo ambiente e atingir um dos tanques de hélio líquido. O hélio não era explosivo, mas um acidente poderia atrasar em meses o trabalho de Kracowski, sem falar que isso chamaria a atenção de um monte de inconvenientes do departamento estadual de Serviço Social e da Secretaria de Planejamento do município.
Com o Bondurant perambulando pelo porão, provavelmente meio embriagado ou pior que isso, um desastre estava prestes a acontecer. Ele já estava perturbando o alinhamento correto dos campos. Um objeto de ferro ou de aço no bolso dele poderia facilmente destruir algum equipamento caro. Se os tanques de hélio ou nitrogênio líquido fossem atingidos, o porão se congelaria extensa e instantaneamente.
Kracowski abriu a gaveta da escrivaninha, pegou uma chave e uma lanterna. Havia três acessos ao porão a partir do interior do prédio. Um deles era do escritório do Bondurant, o outro era uma porta trancada no corredor principal com a placa Somente funcionários autorizados.
Kracowski foi até a estante e pegou uma cópia de Uma breve história do mundo, de H. G. Wells. Ele enfiou a mão no espaço onde estava o livro e tateou o espaço em busca de um botão oculto. O que parecia inteligente quando o pessoal do McDonald estava instalando no momento pareceu um truque desnecessário e exagerado de um filme de espionagem. Ele apertou o botão e uma estante próxima se abriu para frente, revelando a porta de metal e o terceiro acesso para o porão.
— Olha, que legal, Richard.
A Paula cabia uma reação ingênua e espontânea. Ele destrancou a porta e ligou a lanterna, direcionando a luz para a escada de descida. Havia teias de aranha na entrada e ele raspou nelas enquanto adentrava a escuridão. O sombrio porão exalava um cheiro de mofo e de bolor. Ele deu uma última olhada para trás e viu Paula esperando na porta, delineando uma silhueta meio inclinada de tensão e agitação.
Kracowski desceu a escada até o corredor estreito que se ramificava a partir do corredor principal do porão. Ele jogou a luz em uma das celas entulhadas. As celas eram uma testemunha diabólica da história da saúde mental dos anos 1940, quando o terror e a dor eram ferramentas psiquiátricas mais comuns do que a assistência e a sinergia. Lobotomias frontais, fármacos, comas induzidos por insulina e eletrochoque eram os gloriosos brinquedos dos abre-alas em direção ao novo mundo da psiquiatria. Pena que os psiquiatras não reconheceram nem lidaram com suas ilusões de grandeza.
Pena que eles não eram impecáveis como Kracowski.
Ele ouviu um arrastar de pés no breu do corredor principal. Desligou a lanterna e ficou prestando atenção.
Imediatamente ele reconheceu a voz de Starlene.
— Olá? Quem está aí? — gritou ela na escuridão.
Ele deveria ter percebido que Starlene começaria a xeretar por aí. Ela já perguntara demais sobre seus tratamentos experimentais. Com sua fé religiosa simplória, ela automaticamente aceitava que todas as curas que não tinham origem divina eram resultado de poderes malignos indizíveis. É por isso que ele queria que ela se submetesse aos tratamentos — para que ela compreendesse o que ele estava tentando concluir.
Além disso, talvez ela ficasse “curada” de sua necessidade de se submeter a uma autoridade invisível a quem implorava perdão por pecados imaginários. Se não ficasse curada, pelo menos ela ficaria assustada o suficiente para ficar de boca calada.
Claro, se tudo o mais desse errado, com o tratamento, a memória dela poderia ser apagada.
— Saia para que eu veja você — disse Starlene. A voz dela ecoou corredor afora. Bondurant deve ter fugido do porão porque os passos de Bondurant eram o único som que se ouvia além do zumbido do equipamento.
Kracowski calmamente foi até o corredor e aguardou. A poeira velha deixou o ar grosso e ele lutou para conter um espirro. Foi aí que ele a viu.
Inicialmente ele achou que fosse Starlene vindo no corredor na direção dele. Em seguida, percebeu que a mulher estava nua.
Viu que a mulher trazia consigo sua própria luz. Trazia, não: emitia.
Ela se deslocou na direção dele como a bruma da aurora sobre os campos; em seguida, antes que ele pudesse perceber o que o rosto dela tinha de estranho, ela sumiu.
Antes disso, porém, sussurrou dentro da cabeça de Kracowski: Você verá a verdade se olhar através dos meus olhos.
Kracowski quase deixou cair a lanterna. Ele olhou em volta para ver quem tinha falado, para ver aonde a mulher tinha ido. Sim, porque mulheres translúcidas não existem, e mulheres que não existem não desaparecem. A mente não pode viver separada do corpo. Kracowski mudou a direção da luz da lanterna novamente e percorreu com ela o corredor e dentro das celas próximas.
— Cadê ela? — perguntou Starlene destacando-se da escuridão.
— O acesso ao porão limita-se às pessoas autorizadas, Srta. Rogers — admoestou Kracowski.
— E ela estava autorizada?
— Preocupe-se com suas próprias transgressões, Srta. Rogers. Sua carreira está só começando, por isso é melhor manter seu histórico imaculado.
— Não posso fingir que não a vi.
— Viu quem?
— Não me venha com essa. O Sr. Bondurant a viu também. — Starlene acenou a escuridão atrás de si: — Acho que ele fugiu correndo.
— Não sei que tipo de manifestação ou ilusão a senhorita pensou ter visto. A Terapia de Sinergia Sináptica e os campos eletromagnéticos resultantes podem ter efeitos inesperados. Ainda estou estudando como ela altera os padrões neurais. É possível que a senhorita tenha sido exposta a uma grande e intensa flutuação, o que pode provocar alucinações.
— Ela disse que era a “Milagreira”. Na verdade, ela não disse nada: ela falou comigo telepaticamente.
Milagreira. Era exatamente o que Kracowski queria: mais histeria religiosa entre os funcionários. Pelo menos a história pode servir de fachada se Starlene fizer alguma declaração ao conselho estadual. Ele poderia dizer que ela estava alucinando. Se ele for questionado um dia, poderá convencê-los de que Starlene está precisando receber ajuda, e não fornecê-la.
Ele a iluminou com a lanterna e a luz a fez piscar. — Por que a senhorita está aqui embaixo, Srta. Rogers?
— Bondurant. Ele... — ela pareceu ter mudado de ideia acerca do que queria dizer. — Estou tentando descobrir como funciona essa geringonça toda aqui embaixo., como isso pode ajudar estas crianças.
— A senhorita acredita no poder do diálogo, no poder da sugestão. Assistência compassiva e educativa. No entanto, o que a senhorita está tentando encher de amor são vasos quebrados. Meu trabalho é consertar esses vasos.
— Freeman disse ter “ouvido” pessoas aqui embaixo. Ele diz ser capaz de ler pensamentos.
— Casos de delírio já foram relatados na fase maníaca de pacientes com transtorno bipolar. O ciclo dele é rápido, não é?
— Eu já o vi ir da euforia à depressão em questão de minutos. Mas ele está ouvindo vozes; eu estou ouvindo vozes e ando vendo pessoas que eu queria muito acreditar que não são reais.
— Posso-lhe garantir que não são reais. Foi como eu lhe disse: já ouvi muitas dessas histórias sobre Wendover e nunca vi um fantasma.
— O senhor não viu a “Milagreira”?
— O que a senhorita viu foi uma ilusão de óptica. — Kracowski tirou o feixe de luz do rosto de Starlene e o direcionou para o fundo do corredor. — Se não está presente, não pode ser quantificado. Se não pode ser quantificado, não existe. Se não existe, não me interessa.
— Se o senhor é tão corajoso, por que não me dá a lanterna e fica aqui no escuro?
Kracowski colocou a luz sob o queixo e mexeu na lanterna para produzir sombras sinistras no rosto. — Talvez os loucos estejam na sua frente.
— Isso não parece ter saído da boca de um homem racional, um cientista como o senhor.
— Se a senhorita fugir assustada comigo, talvez deixe em paz meu equipamento.
— Eu não ousaria interferir na sua pesquisa. Afinal, o senhor ainda tem que salvar o mundo, correto? Tem muita gente perturbada e decadente para tratar. As massas. Os que não nasceram perfeitas como o senhor.
Ela seguiu para o corredor principal, na densa passagem escura, com sua sombra ondulando na parede como manchas de petróleo num mar agitado.
— A senhorita não viu nada — reforçou Kracowski.
— Como também não vi aquele homem no lago — gritou ela sem diminuir a marcha. — Nem aquelas pegadas de água no corredor. Ultimamente ando vendo um monte de coisas que na verdade não estou vendo.
— Elas não existem até eu dizer que existem.
Starlene parou no final do corredor. — É Deus que decide essas coisas.
Em seguida foi embora, passando pela luz azulada, onde o zumbido das máquinas suscitava vivências além da ciência.
CAPÍTULO 25
Trezentos quilos de pressão do céu noturno, as montanhas cercando, as árvores nada mais que vultos querendo estrangulá-lo.
Bem assim, perto da cerca com o mundo todo contra ele, Freeman pulou no fosso do elevador num dos ciclos de depressão — sem paradas. Ele era inteligente o bastante para saber a diferença, graças ao tratamento do Dr. Cracolândia. Claro, a depressão era só uma mistura infeliz de substâncias cerebrais e curtos-circuitos, mas ele não conseguia deixar de pensar nela como uma piada muito boa de Deus.
Poucos momentos antes, ele sabia tudo, era mais esperto que Deus, conseguia fazer triptrap na cabeça do mundo todo se quisesse.
Por ora, no entanto, ele sentia-se como um breu total.
A trilha perto do lago estava lenta, os pés dele pesados como tocos de árvore. O manto negro da depressão sobre sua cabeça embotava seus sentidos e impedia o oxigênio de chegar ao cérebro. A visão da cerca eletrificada acionou seu enorme interruptor cerebral. Ele estava preso em Wendover, desesperançado, desamparado, mais um traste na fábrica de derrotados.
Pior ainda: ele estava começando uma sessão de análise com ele mesmo. O bom e velho inimigo interior. O lobo sob a ponte.
— Freeman?
Ah, não.
Ela, não.
Não agora.
Ele só queria ficar sozinho, meter-se sob a coberta e enterrar a cabeça sob o travesseiro no flatulento país das maravilhas conhecido como Salão Azul. Sozinho com seus pensamentos sombrios. Ele e seu mistério, uma parceria firmada no paraíso.
— Freeman, me desculpe.
Me desculpe. Essa era boa. A palavra a que todo mundo recorre quando esculhamba a vida de alguém. “Desculpe” era a expressão favorita do pai dele, logo depois de “cabeça-de-bagre”, “filho-da-puta”, “cabeça-de-merda” e outros nomes carinhosos.
Freeman passou por Vicky na escuridão, deixando que o desespero o arrastasse de volta a Wendover. O lago captou a lua prateada e as ondinhas sussurravam nomes esquecidos, como se a água retivesse antigos espíritos dos mortos. Por ele, podiam vir, pegá-lo, comê-lo ou puxá-lo para o fundo com eles — quem sabe ele não encontraria seus semelhantes em meio a esses mentecaptos?
— Freeman, fala comigo. Não fica desse jeito.
De que jeito? Ele não estava de jeito nenhum. Ela não precisava segui-lo. Por que ela não achava outra pessoa com quem se preocupar, alguém que desse a mínima para ela?
Ele caminhava e a trilha também podia afundar até a cintura na lama. Depressão: o nomezinho que os psicólogos davam para isso. Eles são tão espertos. Depressão, um buraco onde a gente afunda.
— Eu não consigo fazer triptrap em você, Freeman. Você está com um bloqueio. Se você não me disser, não posso saber. Que é que tá acontecendo?
Triptrap era para idiotas. Quem se importava com o que os outros pensavam? Quando a gente atravessa a ponte para dentro da cabeça de alguém, só vê as desgraças, os problemas, a dor e o sofrimento. Ele tinha uma caixa de Pandora perdida na cabeça com problemas até a boca. Por que sair do caminho e encontrar mais problemas?
Vicky o pegou pelo braço e o sacudiu. Ele piscou, despertando de seu estupor de autopiedade e viu que estavam no gramado de Wendover, com suas janelinhas acesas como olhos de monstro a fitá-los do alto. Mais para a esquerda, quase escondidos sob as árvores, estavam os chalés dos conselheiros apagados, silenciosos.
Ela o sacudiu de novo. — Freeman. Tô com medo. Fala comigo.
Ah, meu Deus. Defensor dos fracos, protetor dos inocentes — que sandice. Clint Eastwood quase se lascou protegendo os fracos em Josey Wales, o fora da lei.
No entanto, Vicky tinha sido legal com ele, ou pelo menos agiu como tal. Droga, ele odiava quando as pessoas fingiam tão bem quanto ele.
— Esquece — disse ele. — Tá todo mundo preso aqui.
— Preso. Alguns minutos atrás você estava todo animado para arrumar um jeito de fugir.
— Eles nos passaram a perna. Eles ganham sempre. Não importa o que você faça, eles estão sempre um passo à frente. Você ainda não percebeu?
— Não, Freeman. Sempre há uma esperança.
Freeman segurou o riso. Seu estômago se revirou e ele quase engasgou. Talvez ele devesse pedir à Vicky alguns conselhos sobre a autoindução do vômito para que se livrasse de todas as mentiras que o alimentaram por anos.
— Vou explicar pra você — disse ele. — Tem um monte de maluco no porão, arame farpado eletrificado nas cercas e a chave do portão da frente tá no bolso de um cara que dá choque em criança só por diversão. Por trás de tudo, a Fundação. Achei que a Fundação estava longe da minha vida pra sempre quando enfiaram o papai numa cela acolchoada. Agora eles voltaram e tenho a sensação de que me trouxeram pra Wendover só pra continuarem a brincar e se divertir. O que disso tudo que eu te falei me daria vontade de cantar “amanhã será um novo dia”?
Vicky o interrompeu. — Achei que você fosse especial, mas pelo jeito é igual aos outros, não é? Não é?
Ele foi obrigado a olhar para ela. Sentiu que devia isso a ela. Ele desejou que não devesse: aqueles grandes olhos negros refletiram a luz exatamente como o lago o fizera. Tudo o que ele precisava: uma menina que lhe arrancasse lágrimas dos olhos no meio da noite. Se ele vivesse um milhão de anos, o que já seria um milhão além do suficiente, ele nunca conseguiria entender o sexo feminino.
Mesmo se ele entrasse dentro da cabeça das meninas, ainda assim não faria sentido para ele.
— Vem, vamos embora. — Freeman pegou Vicky pelo braço. — A gente só vai arrumar mais problema. O cara morto no lago pode achar que precisa de companhia.
Ela se soltou das mãos dele. — Você está tão preso nos seus problemas que não consegue ver os problemas de mais ninguém. Só que às vezes a causa dos seus problemas é você.
Droga.
Ela começou a chorar.
Freeman estava desamparado. Se ele estivesse na fase maníaca, entraria nos pensamentos dela e tentaria se relacionar telepaticamente mesmo que estivesse fadado ao fracasso. As garotas nunca dizem o que realmente querem e sequer pensam o que querem dizer realmente. Quando se tenta consertar algo, o objeto consertado não se parece em nada com o que era antes de quebrar.
Ele se aproximou para confortá-la, um tapinha nos ombros, algo digno do Clint Eastwood, mas ela se virou. Que fazer então?
Ela deu alguns passos lentos para longe dele, que meteu as mãos nos bolsos e pôs-se a olhar as estrelas. Os insetos noturnos zuniam de árvore em árvore e duas rãs coaxavam perto da margem do lago. Quisera ele se imiscuir à noite, como o espírito do velho que se dissolveu como uma névoa.
Ele, no entanto, não podia, porque era feito do barro de Deus: carne, osso e sangue.
Droga.
Ele era o lobo sob a ponte e ela era o carneirinho.
Ele a estava devorando.
Ele e sua bocarra maligna cheia de presas, com suas estúpidas garras perversas.
Freeman usou então aquela palavra, aquela que ele ouvira tantas vezes e praticamente nunca usara. — Desculpa.
— Você está é com pena de si mesmo.
— Não tô, pode acreditar. Eu não queria magoar você.
Ela girou tão rapidamente que ele quase caiu para trás. Ela veio como um boxeador ambidestro, Robert de Niro interpretando Jake LaMotta em Touro indomável, Clint Eastwood em Perseguidor implacável, Al Pacino como Michael Corleone na trilogia O poderoso chefão, as palavras dela o atingiram como cruzados e ganchos de direita e de esquerda. — Não... queria... me... magoar. Você é o campeão em magoar os outros, Freeman. Nunca conheci alguém igual a você. E também nunca quis conhecer.
Ela saiu marchando pelo gramado em direção a Wendover, pequena e perdida contra o enorme prédio escuro. Freeman a seguiu com o coração no peito feito passarinho na gaiola.
Eles já estavam quase perto do prédio e Freeman pensava em algo a dizer, talvez perguntar fosse a melhor maneira de se chegar, quando Vicky parou.
Freeman pensou que ela lhe jogaria na cara mais opiniões dela sobre ele, mas ela apontou para uma janela no andar de cima, uma das poucas que não estavam escuras. Uma sombra se moveu sob a luz fraca do cômodo — uma cabeça recuando. Alguém os estava observando.
— Quem era? — perguntou Freeman.
— Não sei.
— Espírito faz sombra?
— Talvez os espíritos sejam a sombra.
— Vicky, esse lugar é muito do mal.
— Era tão melhor quando era só a gente com os nossos problemas. Mesmo sem o homem do lago e aquela gente do porão, e agora você falando sobre a Fundação que está por trás disso. Acho que eu não consigo aguentar mais, Freeman.
Eles se aproximaram da escada dos fundos sob o frio e cricrilar da noite. A lua produzia longas sombras estiradas das árvores sobre o lago. Freeman pegou Vicky pelo braço e ela não o impediu: apoiou-se nele e começaram a subir os degraus. Freeman se sentia mais leve, como se uma parte do peso do mundo tivesse sido tirada das costas.
Ele parou no meio do caminho. Percepção, muito bom.
A depressão não vai embora assim, mesmo para quem tem ciclos rápidos. De algum lugar nas profundezas das suas entranhas, a depressão subia com suas garras até a superfície. Freeman sentiu algo tão raro que teve de se beliscar para ter certeza de que não estava tendo um sonho bom enquanto andava sonâmbulo por aí.
O sentimento não era exatamente de felicidade. Ele não conhecia muito desse sentimento, mas o reconheceria de uma distância segura. E não era alegria. E ele tinha certeza de que não era a palavra começada com A.
No entanto, a companhia de Vicky estava começando a se transformar num hábito.
Um hábito bom.
— Não vem com esquisitice pra cima de mim, Freeman.
No meio da noite, ele sorriu. Um sorriso — é, tudo bem, esquisito à beça.
Ela apertou sua mão contra a dele. Ela lhe estava dando algo. Ele pegou e cerrou o objeto em seu punho — uma moedinha.
— Não me faça chegar a esse ponto de novo — disse ela.
O problema era que ela já estava nesse ponto. Ela estava ligada a quase tudo o que ele fizera ultimamente, pelo menos quando não estava deprimido. Ele podia fechar os olhos e sentir o cheiro de sabonete dela, ver a pintinha que ela tinha uns cinco centímetros abaixo do olho esquerdo, sentir os ossos finos de seus dedos. Ela já estava se enraizando e ele não saberia como arrancá-la de sua vida.
Será que era possível vomitar pensamentos, limpar a cabeça e deixá-la perfeitamente vazia? Bulimia cerebral? Começar do zero, sem passado, sem papai, nem cicatrizes, nem sentimentos? Sem PES?
Será que Deus, se é que Ele era tão real e prestativo quanto Starlene pregava, deixaria um garoto começar de novo sem ter que jogar contra cartas marcadas?
Não.
Era isso a que chamavam esperança e Freeman sabia que a palavra nada mais era que uma arma carregada no arsenal dos psicólogos. A esperança não existia no mundo real, onde os fantasmas andavam e as criancinhas recebiam eletrochoques e rolos eletrificados de arame farpado delineavam o perímetro do universo.
— Não estou pensando em nada — disse ele apertando a moedinha e desejando ter a coragem de dizer algo estranho, profundo, agridoce, talvez como Al Pacino em Perfume de mulher ou Vítimas de uma paixão.
— Não precisa me esconder nada. Você sabe que pode confiar em mim.
— Estou pensando que é melhor nós entrarmos antes que alguém note nossa ausência. O que a gente menos precisa agora é o Bondurant na nossa cola. Com certeza ele nos marcaria para uma sessão extra na salinha secreta do Kracowski.
— Ou aplicar a palmatória — completou Vicky.
— Me poupe.
— Acha que devemos ir ao porão?
Freeman escutou um ruído debaixo da plataforma. — Acho que não — sussurrou.
Tinha alguém falando no escuro abaixo deles. Freeman mal reconheceu a voz como sendo de Starlene de tão trêmula que estava.
Starlene falou de novo, dessa vez com mais clareza. — Crianças, o que vocês estão fazendo aqui? Já passou da hora de apagar as luzes. Pode ser um perigo pra vocês.
Freeman quase não aguentou o riso. Com gente morta andando pelos bosques, era risível preocupar-se em ficar sem sobremesa.
— A senhora não deveria ter ido lá embaixo — observou Vicky.
Starlene chegou vinda da reentrância escura abaixo da plataforma. — Eu só queria verificar o que vocês me contaram.
Freeman e Vicky trocaram olhares. Um adulto mostrando ter dúvidas? Que mundo era esse?
— O que a senhora viu? — perguntou Vicky.
— Não tenho certeza.
Freeman tentou um triptrap em Starlene, mas ele sentiu o ambiente bem sombrio, nublado pelos próprios pensamentos. A única coisa que conseguiu foi uma dor de cabeça. Se ele soubesse o que ela vira, talvez a convencesse de que não estava louco — ou talvez ela tivesse visto algo que a fizera duvidar da própria sanidade.
Mas nem. Nenhum conselheiro na história da humanidade jamais duvidou da própria perfeição. Psiquiatras e psicólogos eram a linha de base a partir da qual se julgava a sanidade. Embora Starlene tivesse mostrado lampejos de ser humana, se prestasse bastante atenção, ela ainda era uma cabeça-dura sabe-tudo que dava crédito a Jesus por todas as coisas boas e a outras pessoas por tudo o que de mal lhe acontecia.
— Ninguém anda com certeza de nada ultimamente — comentou Freeman. — E as máquinas do Kracowski?
— Só sei dizer que parecem ser muito caras. E também que emitem umas vibrações estranhas.
— Escute — disse Vicky. — Vocês podem ficar aqui a noite toda se quiserem. Eu vou entrar.
— Vai ser mais fácil se você tiver isto. — disse Starlene puxando um chaveiro do bolso. — A menos que você já saiba como invadir também.
Vicky fez um olhar inocente, abrindo os olhos e entreabrindo os lábios relaxados. Nada tem um ar tão culpado quanto inocência simulada.
— A Vicky é uma santa — disse Freeman. — Nunca passaria pela cabeça dela fazer alguma coisa proibida.
— Andou bisbilhotando a mente dela ultimamente? — perguntou-lhe Starlene.
— Achei que você não acreditasse em PES.
— Estou começando a acreditar em muita coisa nova. — Ela viu as horas no relógio. — Quase onze. Vocês acham que conseguem entrar de fininho nos dormitórios sem serem pegos?
— Quer dizer que você não vai nos dedurar?
— Não. Estou do lado de vocês, lembram-se?
Starlene os levou até a porta dos fundos e a destrancou. Em seguida, entrou e digitou o código no teclado para desativar o alarme.
— Só não chegue perto do lago — aconselhou Freeman a Starlene.
— Eu sei nadar.
— Não tô falando disso. Tô falando de pular na água e procurar o homem invisível.
— Como foi que você... Ah.
— A gente não é tão pateta quanto parece — disse Vicky.
Eles passaram pelo corredor procurando o guarda noturno. Quem os viu da janela de cima devia estar esperando que passassem por ali. Dizia-se que Bondurant ficava rondando os corredores no meio da noite de palmatória na mão. Ele decerto não considerava o perigo de ver vultos insanos dependurados em forcas e dizendo frases estranhas na cabeça dele.
Wendover em si parecia uma caveira, uma concha dura que guardava sonhos aleatórios e inexplicáveis. Freeman até achou que o prédio podia ser insano. Se o que Vicky contou era verdade e se o lugar foi mesmo um pinel durante os gloriosos dias da psicocirurgia, aquelas paredes não absorveram somente gritos. Freeman sentiu um arrepio e ficou imaginando onde morreriam os gritos.
Eles passaram pelos escritórios principais. Não havia luz nenhuma pelas frestas das portas, indicando que Bondurant tinha ido embora ou estava sentado lá de luz apagada — provavelmente sonhando com a próxima vítima de sua palmatória. A vontade de Freeman era nunca mais fazer triptrap no Bondurant. Ele preferia trocar ideias com espectros a ler os pensamentos de alguém tão perverso quanto o Lagartão.
— Vem comigo até a porta do meu domitório? — perguntou Vicky, sussurrando. Na horrível luz fluorescente, o rosto dela tinha um tom insalubre branco-esverdeado.
— Você tá com medo?
— Não. Sou muito estúpida pra ter medo.
— Ah, tá. Muito estúpida, sei. Tão estúpida que passa a perna nos guardas noturnos e põe os conselheiros comendo na tua mão.
— Desculpa por aquilo — disse ela tirando o cabelo do rosto, um gesto que fez o coração de Freeman sincopar. — Eu fiquei muito sentimental.
— Acontece com todo mundo.
— Não vou deixar acontecer de novo.
— A vida ia ser bem mais fácil, mesmo se você tiver que fingir.
Eles ficaram quietos enquanto chegavam ao Salão Verde. A porta estava entreaberta e Freeman pensou naquelas meninas todas nas camas só de roupa de baixo. O dormitório estava escuro e Freeman não sabia se havia algum conselheiro lá dentro esperando a Vicky entrar. Ele resolveu que não seria boa coisa ficar dando sopa por ali.
Antes de sair, Vicky o puxou e, com a boca bem perto do ouvido dele, agradeceu: — Obrigada pelo passeio. — Depois, beijou-lhe a bochecha.
O que o Clint Eastwood faria?
Ficaria ali como uma estátua, isso sim. Ele quase desejou ter um nacão de tabaco para dar aquela virada e aquela cuspida no chão como resposta — ou mascá-lo uma ou duas vezes com o canto da boca. Não sinta nada, mesmo que tenha que fingir.
Ela passou pela porta e entrou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele ficou feliz porque mandaria aquela clássica do Clint Eastwood em Josey Wales, o fora da lei: — Com certeza.
CAPÍTULO 26
O Dr. Kracowski olhou pelo espelho bidirecional. — Impossível.
— Tudo é impossível, até acontecer.
Kracowski observou o rosto de McDonald no reflexo. Eles estavam na Treze, na sala dos milagres. Quer dizer, isso se Kracowski acreditasse nos próprios olhos e não em dados empíricos. Pela primeira vez na vida, uma sombra de dúvida atravessou o intelecto do médico. — Foi por isso que a Fundação me financiou?
— Estamos nesse ramo de paranormalidade há décadas. Uri Geller era só uma cortina de fumaça da Guerra Fria. Pense nas vantagens práticas da PES, da clarividência, da visão remota. Por mais secreta que seja, dá pra fazer parte de qualquer reunião.
— O Congresso nunca financiaria uma tolice dessas.
— Tá, e eles nunca financiariam um sistema de mísseis espaciais também. O que são alguns bilhões tirados daqui e dali? Quando se trata de segurança nacional, a maioria dos políticos sabem o bastante para não meterem o bedelho. E outra: quem disse que eu estou trabalhando para um governo só?
— Está bem. Você quer que eu acredite em conspiração dos Illuminati, quer que eu acredite em sobrenatural. Seria pedir muito para um cético.
— Você não é o primeiro a fazer uma descoberta. — McDonald acenou para o chão. — Mas suas máquinas lá embaixo estão conseguindo fazer alguma coisa que nem o nosso grupo de pesquisa pensou. Kenneth Mills não chegou nem perto, e olha que ele foi pioneiro nesse campo.
— Você gosta de falar do Mills, não é? Ele até podia ser brilhante, mas os resultados finais não são. A mulher, morta; o filho, todo problemático com meia dúzia de distúrbios comportamentais.
— Mills tinha umas falhas de personalidade, isso é óbvio, como todo gênio, mas o trabalho dele com frequências eletromagnéticas abriu uma porta para dentro da mente das pessoas. Você está levando as coisas para um outro nível. Aliás, um nível ligeiramente mais alto que o esperado.
— E você está pensando que eu não sou confiável?
— Não. Foi como eu disse: as ordens podem mudar.
— Isso explica a cerca eletrificada.
— Achamos que seria melhor manter todo mundo em quarentena até descobrirmos mais sobre o que está acontecendo.
— Em quarentena? Assim fica parecendo que estamos cultivando antraz ou fabricando gás neurotóxico.
— Até então é estritamente confidencial. Se alguns dos funcionários estiverem por aí contando histórias de fantasmas, alguém poderia começar a querer saber demais. E curiosos atraem mais curiosos. Antes que se dê conta, aparece um jornalista idiota atrás de um Pulitzer e um contrato para publicar um livro.
— Ah, difícil encontrar maior clichê de trama de mistério. Para quem você trabalha de verdade: CIA, FBI ou Conselho de Segurança Nacional?
McDonald deu uma gargalhada rouca como um coaxar. — Nós somos os que ficam de olho neles.
— McDonald, ou seja lá qual for o seu nome, acho que essa é a primeira mentira que você me conta. — Kracowski se sentou na maca em que curara muitas crianças problemáticas. Olhou para o teto e ficou pensando qual a probabilidade de ele mesmo passar por um tratamento de TSS. Ele achava que não notaria a diferença porque seus padrões neuronais estavam perfeitamente alinhados. Não havia nada a ser curado.
No entanto, será que ele conseguiria ler pensamentos? Ou ver fantasmas?
Ele balançou a cabeça ao lembrar-se do incidente no porão e das frias palavras serpenteando pela sua mente.
— Portanto, basta que você continue o programa — concluiu McDonald. — Vamos trazer gente nossa aqui para verificar seus resultados. Observadores independentes, essas coisas.
— Você está dizendo que isso vai ficar encoberto para sempre.
— Para sempre? Talvez não. O governo dos Estados Unidos não mantiveram a bomba atômica em segredo quando começaram a bombardear cidades por aí.
— Ainda não consigo ver como você espera manipular esses... — Kracowski cuspiu a próxima palavra — fantasmas. Se é que eles existem.
— Acho que você pode remover o “se” dessa sentença. — McDonald apontou para o espelho bidirecional.
Kracowski se virou e uma imagem bruxuleou no vidro como se aprisionada entre os painéis duplos. A imagem adquiriu uma forma branca e prata e, finalmente, um rosto. Era a mulher, a que Kracowski vira no porão. Dessa vez, porém, ele tinha uma testemunha ocular da ilusão.
Enquanto observavam em silêncio, a mulher passou suas mãos vaporosas pelo espelho como se procurasse uma fenda, uma rachadura pela qual pudesse passar.
Kracowski percebeu que ele ficara sem respirar por quase meio minuto. McDonald estava igualmente imóvel. As órbitas oculares da mulher, vazias como minas abandonadas, tentavam perceber este estranho e sólido mundo em que ela se encontrava. Seu espectro amorfo foi de encontro ao espelho e Kracowski começou a fazer anotações mentais para registrar mais tarde em seu diário.
Ele estava quase terminando a primeira frase quando a imagem se dissipou como fumaça.
A sala ficara tão quieta que Kracowski conseguia ouvir a vibração sutil das máquinas no porão. Mesmo em estado de inatividade, os imensos magnetos exerciam uma atração gravitacional — e talvez outro tipo de atração.
— Energia eletromagnética — disse Kracowski.
— Para mim era um espectro.
— Não. Talvez essa seja a força que os traz a este plano. Essa pequena interseção das dimensões a que chamamos “realidade”.
— Realidade... essa eu preciso ver para crer.
Kracowski acenou a mão. Naquele momento, McDonald era insignificante, um espectador do trabalho intelectual de Kracowski. — Do pouco que já li sobre investigação paranormal, eles fazem leituras eletromagnéticas e usam as anomalias como “prova” de atividade sobrenatural. Portanto, é possível que os espectros, quando aparecem, desorganizem os campos de força. Mas e se for o contrário? E se os campos eletromagnéticos os atraírem para nosso padrão dimensional?
— Há poucos minutos você só pensava nos números; agora você vem com uma teoria de fritar fantasma.
— Sou um cientista, McDonald. A principal função do cientista é provar por que algumas teorias não funcionam. Geralmente as descobertas advém dos erros. É difícil um cientista ter a sorte de fazer uma descoberta efetiva durante a carreira.
— E você não está descobrindo nada. Lembre-se de quem é que financia você. — McDonald olhou para a lente da camerazinha no canto do teto.
Kracowski foi até a porta e tentou abri-la. Trancada. Ele se virou, já ruborizado.
McDonald enfiou a mão no bolso e puxou um objeto metálico. — A partir de hoje eu fico com as chaves.
Kracowski apontou com a cabeça o espelho onde a imagem aparecera. — Eu acho que eles não precisam de chave. E tenho certeza de que arame farpado nenhum vai impedi-los de entrar ou de sair.
— Pode ser. Até lá, você fica fritando eles aqui e eu me preocupo com o que fazer com eles.
Enquanto McDonald destrancava a porta e digitava o código na fechadura eletrônica recém-instalada, Kracowski olhou para o espelho e pensou qual seria a melhor forma de entrar nos pensamentos de McDonald.
CAPÍTULO 27
Freeman achou que sua chegada ao dormitório não tinha sido notada. Segundos depois de colocar a cabeça no travesseiro, porém, ele ouviu um assoviozinho vindo da esquerda. A silhueta de Isaac era a única coisa que Freeman conseguia ver do amigo. Não, amigo não.
Freeman não tinha amigo nenhum ali. Nem Isaac, nem o Fraldinha, nem Starlene, nem ninguém. E nem Vicky, mesmo que ela tenha feito seu coração flutuar. Ele se aposentara permanentemente do seu cargo de defensor dos fracos e oprimidos. Isaac era mais um mané, mais um frustrado, parte da concorrência por comida e oxigênio na brincadeira preferida de Deus: sobrevivência do mais forte.
— Psst. — Isaac se sentou. Ele vestia um pijama listrado e parecia um prisioneiro num campo de concentração.
Freeman puxou a manta até cobrir a cabeça e sentiu aquele raiom institucional lhe roçar a bochecha. Ele sentia o cheiro do próprio chulé e não escaparia do banho no dia seguinte, o que significava ficar nu na frente do Deke e do Esquadrão da Intimidação. Opa, calma lá. Freeman arrancou a manta e perscrutou a fileira de catres.
Deke ainda estava sumido. Ele não voltara do porão.
Isaac sibilou de novo.
Freeman se deitou de costas e olhou para cima. A pálida luz de emergência azulada perto da porta deixava o teto parecendo uma noite sem estrelas com uma lua escondida em algum lugar do horizonte. Ou, talvez, parecesse a superfície do oceano enquanto se afogavam. Na verdade, não importava se estavam todos mortos ou não. De qualquer maneira, não havia como escapar.
Isaac ficou então do lado da orelha dele, irritante como um pernilongo. Ele perguntou num sussurro: — Que é que aconteceu?
— Como assim “que é que aconteceu”?
— Você deu um fim no Deke, não foi?
— Eu sei lá.
— Ele não apareceu no jantar, não foi à sessão de grupo... Até o Casaco Verde estava meio deslocado. Aposto que você e a Vicky...
— Nunca coloque o meu nome com o dela na mesma frase.
— Talvez seja a Starlene. Ou o Kracowski? Será que o doutor deu uns choques nele e ele virou cinza?
— Cê tá tomando ritalina por acaso? — perguntou Freeman.
— Não, por quê?
— Você tá falando rápido pra caramba.
— Bondurant chamou umas pessoas pra irem na sala dele. Eu nunca tinha entrado lá. Nunca ganhei paulada. O pessoal fala que ele gosta de bater.
— E o que ele fez com você?
— Só perguntou se a gente foi ao porão. Ah, teve uma vez que ele apareceu e me perguntou se eu andei brincando “na zona morta”.
Zona morta. Freeman se apertou na coberta e tentou não pensar nas coisas que viviam abaixo da cama e do piso. — Eles nos prenderam.
— Do que que cê falando?
— Arame farpado eletrificado em todas as cercas. Não dá pra subir sem levar um choque que deixaria os tratamentos do Kracowski parecerem uma cosquinha.
— Por quê?
— Acho que tem a ver com o equipamento do Dr. Cracolândia. E tem uma agência misteriosa chamada Fundação que é metida nessas esquisitices. As cobaias somos nós, mas não sei que experiência que é.
— Não é possível. Isso nunca aconteceria num país que defende a liberdade. E eu achei que o paranoico fosse eu.
— Isaac, você é judeu. Que merda você sabe de liberdade?
Isaac bateu na cabeça com a mão. — Eu sou livre aqui. Se você é livre aqui, você ganhou.
Será que Freeman tinha essa liberdade? Ele só tem um pai estragado, lembranças pestilentas, transtorno bipolar de ciclo rápido, o dom de fazer triptrap e, pior de tudo, estava começando a sentir um tipo de atração imbecil por uma menina.
Atração? Será que eu tô apaixonado ou meus neurotransmissores estão cagados?
Ele teve certeza de estar num ciclo de depressão.
— Bondurant tava bêbado, como sempre — disse Isaac. — Ele me perguntou se eu tinha visto a Milagreira.
— Milagreira?
— Os olhos dele ficaram engraçados quando ele disse o nome dela. Ele ficou olhando pras paredes, tipo pra ver se tinha barata andando.
— Isaac, você acredita em Deus?
Isaac não respondeu. Alguém tossiu num dos cantos do dormitório. O fedor de roupa suja e de hálito com bafo deixava pesado o ar do dormitório. O garoto à direita do Freeman estava roncando.
Ouviu-se uma voz vinda do pé da cama de Freeman. — Ele não acredita em nada.
Era o Fraldinha. Justo ele, que nunca dava uma palavra.
— Acredito sim — contestou Isaac.
— Shhh, tem conselheiro na área — advertiu Fraldinha.
Isaac pulou na cama dele, Fraldinha se abaixou e Freeman fechou os olhos. Dez segundos depois, a porta do Salão Azul se abriu. Um feixe de luz percorreu o dormitório, parou na cabeça de Freeman por um momento, depois ouviu-se fechar a porta.
— Como você sabia que ele estava vindo? — perguntou Freeman ao Fraldinha.
O garoto magrinho deu de ombros na fraca luz do ambiente. — Eu sabia, só isso. Eu ando sabendo das coisas ultimamente. Tipo saber das coisas antes de elas acontecerem, igual quando o Deke desapareceu no porão, depois um daqueles guardas esquisitos levou ele pra uma sala secreta. A partir daí eu não vi mais o Deke. É, não vou dizer que sinto falta dele.
— Seu esquisito — disse Isaac.
— Peraí — disse Freeman. — Quantos tratamentos do Kracowski você fez?
— Cinco — respondeu o Fraldinha. — Ele disse que eu era um dos preferidos dele. Também disse que eu tinha tantos problemas que seria um bom caso de estudo.
— E você ainda não melhorou?
— Olha, um dia, quando você tiver um tempo, vou te contar como foi tudo. Mas acho que a gente não vai ter tempo suficiente pra isso — disse o Fraldinha.
— Por quê? — perguntou Isaac.
— Porque tá chegando a hora da abertura.
— Que abertura é essa? — Freeman estava impaciente e teve de se lembrar que estava conversando com um menino de nove anos que ainda usava fralda e que, naquela hora, afirmava ter poderes de precognição.
— É uma porta que se abre — contou o Fraldinha. — A porta pra zona morta.
— Por falar nisso, que que é a zona morta? Todo mundo fala dela, mas o que é? — perguntou Isaac.
Freeman já vira a zona morta tão vívida quanto o dia. Para ele, era um mundo tão real quanto este. Só que não era todo mundo que conseguia fazer triptrap — pelo menos, por enquanto. Mas se os experimentos de Kracowski estavam dando poderes psíquicos aos pacientes, então onde isso tudo ia dar? Que aconteceria se todo mundo conseguisse ler a mente dos outros? E como Freeman se sentiria se seu poder não fosse assim tão especial?
— Você nunca passou por um tratamento? — perguntou Freeman a Isaac.
— Não. Talvez eu não seja estragado o tanto que precise de cura.
— É só dar tempo ao tempo que eles acabam achando alguma coisa — comentou Freeman.
— Bom, eles vão tomar cuidado comigo porque meus avós querem me tirar daqui, mas de jeito nenhum eu quero ficar trancado na casa de dois velhos judeus. Eles acham que os cristãos querem ver o fim dos judeus na face da Terra.
— Provavelmente eles querem mesmo — disse Freeman.
— E depois, eles vão querer que eu tire nota boa.
— Melhor o inferno então, hein?
Fraldinha bateu no estrado da cama do Freeman.
Uns garotos estavam conversando na fileira oposta. Um deles deu um risinho abafado.
— Conta pra nós o que acontece — pediu Freeman ao Fraldinha — o que você viu lá.
— Eu não sei o que é a zona morta; só sei que é uma porta branca no chão. A porta abre e tem um brilho forte lá dentro e todas essas pessoas vão se chegando e com os olhos loucos querendo pegar a gente...
— Calma, cara — disse Freeman.
— São pessoas sem corpo. Eles gritam, mas a boca não mexe. E aí a gente começa a morrer. E eu tô com medo.
Freeman lutou muito contra a vontade de abraçar o Fraldinha e confortar o menino. A única maneira de sobreviver a esta coisa era se preocupar só consigo mesmo, numero uno, Clint Eastwood fazendo um tipo barato conhecido como Kid, ou o homem sem nome, no seu mais insensível papel. Como o futuro estava parecendo bem desanimador, mesmo do ponto de vista funesto de um maníaco-depressivo.
O que ele vira na zona morta, o que quer que fosse, não era mera ilusão de triptrap e não podia ser explicado pela mixórdia dos neurotransmissores e pelos neurônios desalinhados. O que estava lá embaixo era real. Para ele, Fraldinha certamente conseguia ver o futuro. Em Wendover, tudo agora era crível, até o impossível.
Particularmente o impossível.
Isaac puxou o lençol, cobriu a cabeça e fez barulhos de “uaaaah” imitando um fantasma. Ele levantou o lençol e encarou Freeman e Fraldinha com um rosto meio sinistro por causa da luz azulada. — Tá, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que tem um monte de alma penada que vive no porão, ou melhor, que morre no porão, e eles vão se arrastar lá de baixo do chão pra fazer maldade com a gente. Tá, eu até acredito nisso; todo mundo sabe que alma penada faz maldade porque têm inveja dos que estão vivos e...
— Isaac, você fala pra caramba. — Freeman desejou terem ido dormir para ficar sozinho pensando na Vicky. Ele já tivera a dor e a delícia de um dia agitado.
— Que acontece quando essa porta sua abre? — perguntou ele ao Fraldinha.
— Aí eu consigo ver o futuro. Mas ainda não consigo saber quando exatamente.
— Olha: fantasma não existe e só quem sabe o futuro é Deus — declarou Isaac.
— Qu’é que cês tão falando, seus retardados? — Era o Casaco Verde, surgido das sombras.
Freeman ficou corajoso em seu desespero e desafiou: — Cadê seu mano?
— Que mano?
— O Deke.
Os olhos do Casaco Verde eram negros como escaravelhos. — Ele fugiu. Agora ele vai fumar o baseado dele quando ele quiser.
— Claro. Por que será que ele não te chamou pra ir com ele? Todo metido a valente precisa de um mongol do lado. É até difícil imaginar o Deke no mundo real tentando viver por conta própria.
— Tá dando uma de espertinho?
— Alguém por aqui tem que ser esperto. Porque tá todo mundo ferrado.
— Que merda era aquela de “fantasma”?
— Os espíritos levaram o Deke lá embaixo, no porão.
— Mentira. Conversa mole.
Fraldinha gaguejava na presença de seu algoz, mas conseguiu dizer: — F-fizeram o tratamento na gente. Agora a gente vê através da parede.
Casaco Verde deu uma risadinha sarcástica. — Eu também passei pelo tratamento e não tô pinel ainda. Por quê? Deram remédio pra vocês tomarem? Se eles tão dando, eu quero.
— Fantasma não existe — insistiu Isaac.
— Ah, não? — disse Freeman apontando para a parede ao fundo do dormitório. — Vai lá e diz isso pra ela.
Contra os blocos pintados de cinza, bruxuleando como uma imagem projetada num cinema antigo, a mulher sem olhos exibia seu sorriso da morte.
CAPÍTULO 28
Bondurant deu alguns passos para trás e se afastou da janela. Ainda faltava uma hora para a alvorada e ele sabia que não conseguiria dormir até o sol nascer mesmo que tivesse bebido muito.
Desde que saíra correndo do porão, ele começou a passar por Wendover olhando para as paredes, de lanterna na mão, tentando esquecer o que vira — ou o que achou ter visto. As lembranças estavam confusas, atenuadas pelo uísque e por aquele truquezinho noturno que dá asas à imaginação.
Agora ele estava verificando todas as salas apagadas do andar de cima onde houve aula ou sessão de grupo. Todas as salas estavam vazias.
Não, vazias não. O fedor estranho estava imiscuído às sombras e por alguns momentos ele vira um movimento pelo canto dos olhos. Quando se virava, porém, os vultos desapareciam. Ele estava numa sala perto do laboratório do Kracowski.
Kracowski maldito. Era ele a causa de tudo isso. E daí se ele era responsável pelo influxo de dinheiro? Deus não tinha seu lugar nessa nova Wendover governada por máquinas e espíritos.
Bondurant se sentou num dos círculos de cadeiras e desligou a lanterna para economizar pilha. Ele fechou os olhos e compartilhou o sofrimento da cadeira ao seu lado. As crianças que ali se sentavam e tentavam resolver seus problemas, aprisionadas nesse templo maligno da psicologia sob o comando de um pastor que não passava de conselheiro cheio de academicismos. Se dependesse de Bondurant, os pecadorezinhos estariam curvados em orações, falando com Deus em vez de uns com os outros.
Terapia de grupo era uma das poucas tendências que sobreviveram às ondas intermináveis de ideias supostamente brilhantes. Mais jovens, inteligentes e preparados, os conselheiros continuavam trilhando os novos caminhos da mente humana, mas negligenciavam a alma. A alma era a única coisa que precisava ser curada. Que o Senhor se encarregue do resto.
Bondurant tateou o casaco em busca da garrafinha, tirou-a do bolso e desenroscou a tampa. Tomou o frasco e o ergueu.
— O Senhor é meu pastor, eu posso não querer — disse ele. As palavras ricocheteavam nas paredes pintadas de cinza.
Colocou o gargalo entre os lábios, sentindo o ardor da bebida em seu paladar. Ele tomou o restante, deixando alguns mililitros no frasco. Ele pressionou a língua contra os dentes e inspirou com vontade. O ar de Wendover estava cheio de poeira e de coisas mortas.
O uísque tinha acabado. Ele estava sozinho.
— Eu não tenho problema nenhum — disse na sala escura.
É isso que eles sempre diziam. Ele lera prontuários o bastante para saber que até as crianças se tornam alcoólatras. Bondurant, porém, não era um alcoólatra. Alcoólatras têm problemas com a bebida e ele não tinha problemas. Vez ou outra ele pecava, mas eram pecados perdoáveis porque alguém morrera por eles. O sangue de alguém lavara todos esses pecados.
A solução era tão simples que ele nunca conseguira entender por que o universo da psicologia não a adotava com alegria.
Ele, porém, já tinha enxugado demais para abarcar completamente sua indignação e acabou afundando na cadeira. Ele percebera que aquela era sua igreja. Não uma igreja aos moldes batistas, forte e cara, como um bunker militar. Era uma igreja mental, sob um campanário solitário de seu próprio poder.
Lá, no mundo real, ele nada mais era que um terno e um aperto de mão. Mesmo em sua mansão em Deer Run Estates ela era só uma sombra perambulando por entre os móveis, não mais substancial que a fotografia da ex-esposa num porta-retrato sobre a lareira. Em Wendover ele era importante, tinha valor, era admirado e apreciado — e até amado.
Amado pelos fracos e pelos que ele tentava levar à salvação.
Ele, sentado no círculo de cadeiras.
Seu grupo.
Perdido nas trevas.
— O que Jesus faria? — perguntou ao silêncio. Ninguém respondeu. Que grupo, hein? A gente chega esperando ser compreendido, mas só recebe em troca olhares estúpidos.
Falando mais alto, como um pregador no atril: — Jesus ia dizer: “Toma mais um gole”, é isso que ele ia dizer.
— Nada mau — disse uma voz na escuridão.
Bondurant estremeceu, alerta, pensando que tinha sido tomado pela inconsciência. — Quem disse isso?
— Eu — respondeu a voz.
As mãos de Bondurant tremiam segurando a lanterna. Ele posicionou o polegar sobre o botão de ligar, mas teve medo de ver o que quer que lhe respondera. Era uma voz feminina, calma , perdida, vinda de uma das cadeiras no lado oposto do círculo. Ele achou que podia ser a mulher da cicatriz sorridente na testa, a que desaparecera na parede. Ela nunca dissera nada — talvez não com a boca, mas com os olhos. Essa, porém, tinha uma voz.
Certamente não era um dos funcionários. Ele ouviria a porta se abrir e os corredores todos estavam iluminados pelos equipamentos de segurança. Ninguém entrara. Só se fosse através das paredes ou, talvez, dos céus. Ou do chão — da zona morta.
— Você não deveria estar aqui — disse Bondurant.
— Eu sou daqui.
— Quem é você?
— Eu.
Bondurant sentiu o coração pulsar nas têmporas. Ele estava bêbado e variando, só isso. Ele não estava ali falando com alguém. — Sou o Francis — disse ele.
Três vozes se projetaram em uníssono da escuridão. — Olá, Francis.
Ele recorreu novamente ao frasco e se lembrou de que estava vazio.
— Algum problema, Francis? — disse uma das três vozes, desta vez pela esquerda, uma voz feminina rouca de fumante.
Ele olhou para a janela, que nada mais era que um quadrado num outro tom de cinza contra a parede. Ele rezou para que o sol nascesse. O Senhor o providenciaria. Era um dos truques preferidos dEle: tentar os fiéis com desespero e pavor. A fé de Bondurant, porém, era forte.
— Não tenho problema nenhum — disse ele, com uma voz surpreendentemente firme.
— Com certeza — disse uma voz masculina a duas cadeiras à direita de Bondurant. — Nenhum de nós tem problema algum. Só soluções, não é mesmo?
— Amém — disse a mulher do outro lado do círculo.
— Calma lá — disse Bondurant. — Vocês estão falando da bebida, não é?
— Ah, então você admite. É o primeiro passo.
— Passo — repetiu ele. — Mas eu não estou indo a lugar algum.
— Nós compreendemos — disse a voz rouca de mulher. — Nós já passamos por isso. A gente sabe como é.
Bondurant queria se levantar e chegar à porta, mas suas pernas estavam bambas. Enxugou o suor das mãos nas pernas das calças. Sua gravata o enforcava e ele respirava com dificuldade. A sala, com suas paredes invisíveis e seus habitantes invisíveis, pareceu encolher.
— Deixem-me em paz — gritou.
— Não podemos — disse o homem. — Nós o amamos muito.
— Eu tenho o amor do nosso Senhor — retrucou. — Não preciso do amor de vocês.
— Ah, então você aceita uma força superior. Este é mais um passo em direção à cura.
Bondurant encontrou forças para se levantar, embora as pernas parecessem brotos sob a tempestade. Eu não tenho nada a ser CURADO.
Silêncio.
Bondurant apertava a lanterna, pronto para acioná-la.
A mulher do outro lado do círculo sussurrou: — Quanto rancor. Quanta dor. Francis, você não precisa mais se debater. Basta se entregar.
Ele se sentou novamente, vencido, derrotado, assustado.
Na escuridão, o homem disse: — Nós sabemos o quanto é difícil. Você está sob muita pressão. Todos esses pirralhos pra tomar conta, quem não tomaria um trago?
Bondurant balançou a cabeça entre as mãos.
— O Serviço Social em cima de você o tempo todo, financiadores, todo um conselho administrativo para agradar, todo mundo esperando que você continue sorrindo enfiando merda pra cima de você sem parar — disse a voz rouca de mulher, desta vez não mais à sua esquerda, mas de pé atrás dele.
Uma nova voz se manifestou, voz de criança, pequena e perdida. — Está tudo bem, Sr. Bondurant. Nós o perdoamos.
— Perdão? — disse ele. — O único perdão que importa é o do Senhor Deus. Não se mede o pecado pelos padrões da Terra, só Ele pode nos julgar. Nenhuma criança tem o direito de sentir pena de Bondurant.
— Pelos espancamentos — disse a criança.
Bondurant sentiu como que uma meia enfiada na garganta. Ele só espancou em ocasiões em que não seria denunciado. Como todos os predadores de verdade, ele escolhia criteriosamente as vítimas. Como um catarrento retardado qualquer vem lhe dizer que está tudo bem curvar esse pecadorzinho de merda na mesa dele.
Bem, ele sabia que estava tudo bem porque o Senhor o colocara nessa missão. Que importância tinha o que Serviço Social pensava quando havia autoridade muito superior a obedecer? A vara e o cajado eram o seu conforto. Ele os enfiaria no traseiro desses merdinhas até pedirem clemência.
Porque Bondurant, acima de tudo, era clemente. O Senhor e as sagradas escrituras o ensinaram assim. A clemência a tudo tempera, embora fosse às vezes implacável e vingativa.
— Você precisa se abrir — disse a mulher rouca.
— Eu? Me abrir? — Bondurant não sabia o que mais o aterrorizava: sentar-se em companhia de pessoas que não existiam ou ser colocado na berlinda.
— Não precisa ter medo — sussurrou a criança, desta vez muito próxima dele, tão próxima que Bondurant deveria sentir o hálito dela em seu rosto.
Bondurant reconheceu aquela voz. Sammy Lane, o garoto que morrera naquela chave de braço dois anos antes em Enlo. Foi o momento mais vexaminoso do abrigo, o que trouxe os capangas do Serviço Social para a vida do Bondurant. Sammy se tornou o símbolo da reforma, sua foto apareceu estampada em todos os jornais por semanas até que outro acontecimento levasse a história dele para a página cinco. Depois disso, sumiu, nada além de uma marca negra nos registros do sistema.
Até então.
Porque Sammy estava de volta, oferecendo seu perdão a Bondurant.
— Não tive nada a ver com aquilo — refutou Bondurant. — Eu nem estava lá quando você morreu... digo, quando aconteceu.
— Disseram que foi uma ordem sua — disse Sammy. — E eu não estava sendo mau nem nada, uma garota me puxou o cabelo, eu chutei ela e o conselheiro torceu meu braço pelas costas e me levou para a sala do castigo e, claro, eu odiei porque ninguém gosta de ficar trancado no escuro, por isso eu empurrei o conselheiro e ele passou os braços pelo meu pescoço, me mandou ficar calmo e eu não conseguia mais respirar, mas ele não me soltou e eu não tive fôlego pra pedir pra ele parar e depois disso é que eu soube que tinha morrido. — Sammy deu uma pausa em seu discurso. — Mas agora tá tudo bem.
Bondurant chorava e o sal fazia-lhe arder os olhos injetados. Ele era inocente. A investigação esclarecera os fatos. Até o conselheiro se safou, conseguiu um acordo de confissão que o impediu de trabalhar novamente com serviços de atendimento infantil. Todo mundo ficou satisfeito, culpando o sistema e não as pessoas. Enlo sofreu por um tempo com a diminuição do apoio financeiro, mas Bondurant poliu o sorriso, encarou a tempestade e, depois, as nuvens negras se foram. Em seguida, Bondurant ganhou o cargo de diretor em Wendover.
Todo mundo se esqueceu.
Exceto Bondurant.
E Sammy.
— Todo mundo tem seus problemas — disse a mulher rouca.
O homem disse: — Meu psiquiatra me fez todas essas perguntas, mas ela era mulher e eu não conseguia responder. Ela lembrava a minha mãe. Depois eu escrevi as respostas nuns papeizinhos e coloquei atrás da televisão na sala de recreação.
— Que louco — disse Bondurant, contente por não ter respondido ao Sammy.
— Diziam que eu era louca, mas só estava apaixonada — disse a mulher rouca. — Amar é sangrar por dentro, só isso.
— Não foi culpa minha — disse o homem no escuro.
— Eu não te amava, eu gostava da médica. Eles tiraram meu cigarro, aí eu comecei a mastigar pedaço de lata. Eu pegava as revistas e tirava os grampos pra comer. Depois eu achei uns preguinhos nos painéis de madeira e comi também. Quando foram me abrir, já era tarde.
— Não quero me abrir — disse Bondurant.
A mulher que estava de pé atrás dele disse: — Deixa sair tudo o que está aí dentro.
Um toque frio como o de um dedo congelado fez-lhe um rastro na nuca. — Eu tenho medo — confessou Bondurant.
— Todo mundo tem medo.
— Todo mundo tem medo — sussurrou a vozinha de Sammy.
O cinza em torno da janela ficou mais claro. Bondurant fechou os olhos. O sol estava nascendo detrás das montanhas e logo ele conseguiria ver quem é que estava conversando com ele na sala vazia.
— Bem — disse uma outra voz, forte, masculina e confiante. — Já chega para a primeira sessão. Não vamos resolver todos os nossos problemas, senão perdemos o emprego.
Bondurant forçou as pálpebras para ficarem abertas até tremerem. A sala estava fria como o outono e Bondurant sentiu na brisa a poeira e o cheiro de folhas mortas.
A voz de Sammy sussurrou-lhe no ouvido: — Até mais, Dr. Bondurant. A gente se vê.
Uma das cadeiras caiu e, em seguida, silêncio.
Dez minutos depois, Bondurant abriu os olhos com as bochechas ensopadas de lágrimas. Na tíbia luz da alvorada, ele olhou o círculo de cadeiras vazias. Tateou o bolso e tocou o frasco, jurando pela centésima vez que nunca mais beberia. Em seguida, olhou para a porta.
Sobre a superfície metálica, ele viu o vulto de um velho de camisolão. Os lábios se mexeram, mas não emitiram nenhum som. Enquanto o vulto se dissolvia no alvorecer, Bondurant pensou ter captado as palavras que os lábios fantasmagóricos proferiram:
— Estamos progredindo.
CAPÍTULO 29
— Está confortável, senhorita Rogers?
Starlene assentiu com a cabeça para o espelho na parede. Um aparato que parecia mais um candelabro high-tech pendendo do teto acima da cabeça dela. O ruído aumentou em intensidade, fazendo vibrar a maca à qual ela se encontrava amarrada. A pele dela coçava por baixo dos eletrodos fixados nas têmporas. Dr. Kracowski injetou nela um contraste radiológico para rastrear a química e o fluxo sanguíneo do seu cérebro, causando-lhe uma dorzinha aguda que passou momentos depois.
Randy apertou a contenção ignorando seus olhos questionadores. Ela estava, então, sozinha na sala. Ela agarrou os cantos do colchão e esperou que Kracowski acionasse os interruptores que enviariam as correntes que lhe percorreriam o cérebro, as estranhas ondas que oscilariam em meio às moléculas e a despacharia para o desconhecido.
O alto-falante reproduziu a voz de Kracowski de novo: — Lembre-se: isto é totalmente voluntário.
— Eu sei — disse ela. — Exatamente como é para as crianças.
— Não é uma boa hora para discutirmos as diferenças de mérito entre o aconselhamento tradicional e a Terapia de Sinergia Sináptica. Meus resultados falam por si.
— O senhor está falando de resultados terapêuticos ou... o senhor sabe... aquela outra coisa?
— Ah, o efeito fantasmagórico. Vocês cristãos não acreditam que as almas dos entes falecidos são imediatamente sugadas para o céu ou para o inferno?
— Somente as pessoas que realmente têm uma alma.
— A senhorita é uma questionadora. Muitos já passaram por mim. Quanto a isso, não sou muito diferente do seu Jesus de Nazaré.
— Só que Jesus fez o que fez para o bem do próximo, não para inflar o próprio ego.
O alto-falante transmitiu risadas do outro lado. — Se Jesus tivesse computadores e uma melhor compreensão dos campos eletromagnéticos, Ele teria inventado a TSS.
A intensidade das luzes na sala diminuiu e Starlene tentou relaxar. Seu sono fora interrompido por pesadelos. Toda vez que ela acordou no chalé, suada e colada nos lençóis, rezou para que o medo se fosse. A Milagreira penetrou em seus sonhos fugazes, ostentando nas mãos seus olhos de tragédia. O receio do tratamento também a mantivera inquieta e ansiosa.
Nesse momento, porém, era tarde demais para voltar atrás. Se ela quisesse compreender o que se passava com as crianças de Wendover, teria de enfrentar o mesmo processo — ou seja, deitar-se entregue na maca da Sala Treze. Ela sabia que entraria no lugar ou no estado de alucinação que Freeman chamava de zona morta.
Ela viu seu reflexo no espelho e encorajou a si mesma.
— Ainda que eu andasse pelo vale da sombra do Kracowski — sussurrou para si — não temeria mal algum.
O zumbido ficou mais forte e o piso começou a pulsar. Um leve formigamento trincava-lhe a pele e as paredes ficaram macias. O teto acima girou, foi removido, exibindo um vazio escuro em vez do céu da manhã. O coração de Starlene acelerou, competindo com os ritmos da aparelhagem de Kracowski.
Ela se concentrava em seu rosto no espelho, mas o vidro se deformou até se liquefazer. As paredes não estavam mais lá e também a maca em que se deitara. Ela entrou em pânico e tentou puxar os eletrodos das têmporas. As contenções tinham desaparecido e também os eletrodos.
Ela tentou ficar de pé, mas as pernas estavam moles e quentes. O chão se abriu debaixo dela e seu estômago se contraiu antecipando a queda. Starlene fechou os olhos, mas ainda via o chão se abrir como uma boca faminta e, na garganta escura do porão, bolas diáfanas de luz flutuavam em direção ao teto.
Starlene gritou chamando Kracowski, mas o som foi engolido pelo urro da realidade que morria. As luzes se solidificaram e a Milagreira ficou parada no nada, com os olhos mortos sobre as palmas abertas. Em torno da Milagreira vieram outros, constituídos pelo leite do pós-morte, ostentando o olhar perdido e demente da inquietude eterna.
Os lábios da Milagreira se moveram e as palavras não saíram como sons, mas como pensamentos. — Starlene Rogers.
Starlene se voltou para o lugar onde estaria a porta, que desaparecera com o restante da sala.
A Milagreira sorriu e agitou as substâncias em torno da língua. Os pensamentos dela chegavam a Starlene como um vento roçando as folhagens de um cemitério. — A porta está logo abaixo.
Starlene se virou e ficou de cara com o velho de camisolão, o mesmo que vira caminhando para dentro do lago. Ele falou em pensamento: — Você vai ficar melhor.
— Eu não quero ficar melhor — ela pensou ou gritou ou sussurrou e tentou agarrar freneticamente o ar, tentando mover-se em qualquer direção que conseguisse imaginar.
— Meu lema é “Ou te curo, ou te mato” — disse o velho. — Eu ganho dos dois jeitos.
Um jovem, magro, roto e pálido como uma tênia, chegou de cima. Ele vestia um camisolão institucional sem mangas como uma mortalha. Acenou uma das mãos para o cabelo de Starlene e pareceu surpreso quando sua carne passou através dela, e disse: — Vamos ficar com ela?
A Milagreira respondeu: — Ela não é nossa ainda.
O jovem se lamentou: — O médico disse que a gente podia. Eu prometo que me comporto.
— Desde quando você acredita no seu médico?
— Desde ontem.
— Ontem você não estava vivo.
O velho disse: — E você nunca tomou o seu remédio. Não me admira você ter ficado assim.
O jovem olhou para os pulsos. Longas cicatrizes cinza em contraste com a pele branca iam desde a base dos polegares até os cotovelos. — Posso pegar de volta? — Starlene pressionou os ouvidos com as mãos, mas ainda conseguia ouvir as palavras daquelas bocas impossíveis.
O velho disse para o suicida: — Você vai precisar se esforçar mais. Você foi muito, muito mau.
— Deixe-o em paz — advertiu a Milagreira. — Já não o humilhou o bastante?
— Só estava tentando ajudar.
— Eu sei. Essa é a pior parte. Você nunca viu os pacientes como seres humanos. Você os via como números, experimentos, diagnósticos, como problemas para resolver.
O velho se aproximou de Starlene. Ele estendeu uma das mãos, como um padre católico concedendo um sacramento e, com um toque gelado, penetrou o crânio dela. Ela não conseguiria se livrar por mais que lutasse. Detrás dele, num éter sombrio, mais sombras flutuavam com seus rostos inexpressivos.
— Se eu tivesse outra chance... — conjecturou o velho. — Agora eu sei o que fazer. Sei onde eu errei.
— Não se aproxime — disse a Milagreira. — Esta aqui precisa de um tipo diferente de cura.
A Milagreira cerrou as mãos, ocultando seus hediondos olhos arrancados. Seu brilho ficou mais intenso e, em vez de gritar, suas palavras chegaram mais suavemente à mente de Starlene.
— Tenha fé — disse gentilmente a voz. — Eles podem julgar a sua consciência, mas não podem julgar sua alma.
As formas começaram a rodar, como se Starlene fosse o centro de uma roda-gigante dupla girando nos dois sentidos. As formas da Milagreira ficaram mais indistintas, virando pontos de luz espalhada contra as trevas e o zumbido se fundiu num coro de gemidos. Starlene alcançou os próprios olhos e viu que ainda estavam fechados e as luzes perfizeram um filamento que circulava sem parar, até que só restasse a escuridão.
Ela sentia a pulsação marcada no pescoço. Uma luz suave a envolveu e ela tremia com medo de encontrar coisas que vagavam pela zona morta.
A luz se tornou mais forte e outra voz incorpórea alfinetou-lhe a pele.
— Senhorita Rogers? A senhorita está bem?
Kracowski.
Ela abriu os olhos. O teto estava de volta no lugar e as máquinas não emitiam som. O colchão sob seu corpo era sólido. Ela experimentou a densidade dos dedos e viu que era novamente carne e osso.
Ela inspirou fortemente e olhou no espelho, na direção em que Kracowski estaria de pé por detrás dele. — Que aconteceu?
Pelo microfone: — Como está se sentindo?
— Eu não sei.
— Está melhor, com certeza.
— Melhor que o quê?
— Seu cérebro foi realinhado. A senhorita foi harmonizada. Eu a curei.
— Mas eu não estava doente. — Ela agarrou o colchão, descrente de que conseguiria se levantar mesmo sem a restrição das contenções.
— É por isso que a TSS é tão maravilhosa. Ela cura até os que não tinham ciência de que precisavam ser curados.
Ela fechou os olhos e as imagens da zona morta bruxulearam por detrás das pálpebras. Ela se olhou no espelho de novo. — Por quanto tempo eu apaguei?
O alto-falante ficou mudo por um instante. Em seguida, Kracowski disse: — A senhorita ficou morta por três segundos.
Se três segundos de morte foram tão insuportáveis, Starlene se questionou se a vida eterna seria uma promessa ou uma ameaça. As lembranças já estavam mais misturadas e menos fortes e ela não acreditava no que tinha vivenciado.
Randy entrou na sala e seus olhos travaram. Num átimo, ela pensou tê-lo ouvido falar, mas depois percebeu que seus lábios não se moveram.
Ela leu os pensamentos dele.
Era alguma coisa sobre a Fundação e que McDonald precisava se livrar de um problema específico conhecido como Starlene Rogers. Ela era uma coisinha linda e daria um rala e rola gostoso, mas fazia perguntas demais. Ela era sinônimo de encrenca, ele só sabia disso.
Ela coçou a cabeça depois que Randy soltou as contenções. Ela tentou ler a mente dele de novo, mas era como se uma névoa estivesse passando entre os dois. Ela quase se convencera de que imaginara todo o processo, o choque e a zona morta e os pensamentos de Randy, até que Kracowski e McDonald entraram na sala.
Ela leu os pensamentos do McDonald. Ele estava imaginando se os campos de força podiam ser realinhados para embaralhar os padrões neurais para que pessoas como Starlene sofressem uma lobotomia neuronal, sem cicatrizes. Afinal, uma morte cerebral que não deixa vestígios seria uma ferramenta útil.
Antes que a névoa se instalasse entre ela e McDonald, ela também leu que Kracowski talvez pudesse ter seu cérebro embaralhado assim que a utilidade dele terminasse.
Starlene fechou os olhos e esperou Randy remover os eletrodos.
CAPÍTULO 30
Freeman deu uma olhada pela janela. Os garotos estavam na educação física e Freeman fingira estar com tornozelo distendido. Mandaram-no ir novamente à sala de recreação, onde ele deveria descansar e assistir a um programa qualquer num canal educativo. Em vez disso, um médico entrevistava no ar um casal de forma intimidadora, praticamente obrigando os dois a mudarem de vida. Ele tirou o som da televisão para que o ruído não o distraísse.
Ele enfiou a mão no bolso e puxou um recorte de jornal amarelado. Ao desdobrá-lo, um pedacinho dele se rasgou. A fotografia estava meio desbotada pelo tempo, mas ainda causava o impacto suficiente para sair do papel e dar um nó na garganta de Freeman.
A foto preferida de papai.
A manchete: “Psicanalista condenado pelo assassinato da esposa”.
Ao lado, a inserção: “Mills era respeitado no meio psiquiátrico”.
Como todo jornal de cidade pequena, o Neuse River Tribune carregava no sensacionalismo, mas com um toque comunitário. O artigo sugeria a natureza repulsiva do crime com expressões do tipo “corpo mutilado” e “vítima foi surpreendida”, e também trazia um pouco de relatos de testemunhas:
“O Dr. Mills era um homem muito bom”, declarou Doris Jenkins, que fora vizinha dos Mills por quatro anos. “Ele era pacato e sempre cumprimentava todo mundo. Ninguém imaginaria que ele seria capaz de uma coisa dessas.”
Freeman se lembrava de Doris Jenkins: era uma bruxa velha que sacudia a vassoura para os moleques que iam buscar a bola quando ela caía perto das roseiras dela. Em seu relato à imprensa, ela omitiu que não respondia aos cumprimentos. Mas lá estava ela, congelada em tinta como a voz da autoridade. Fazer o quê?
Freeman leu o artigo todo, embora o soubesse de cor. O nome dele aparecia no último parágrafo. O coitado do moleque não falara desde que testemunhara a terrível tragédia. O moleque que estava num abrigo emergencial até que o Serviço Social soubesse o que ia acontecer com ele.
O moleque que cresceu para ser ele.
Freeman dobrou cuidadosamente o artigo e o recolocou no bolso. Não foi o único artigo: houve ainda sequências de página dois e a cobertura do julgamento antes que o promotor apelasse contra o pai já que era ano eleitoral e todos os psiquiatras a testemunhar estavam prontos para declarar o réu mentalmente incapaz. O pai, contudo, nunca mais foi manchete: o assassinato foi a melhor coisa que o desgraçado do pai conseguira.
Freeman fechou os olhos e se reclinou no sofá embolorado. Ele até poderia tirar uma soneca ali, com o sol mosqueando seu rosto em frente à janela sem ninguém para incomodá-lo. Misericordiosamente sozinho.
Algo caiu na barriga dele.
Levantou um olho e viu Vicky de pé diante dele. Ela estava vestida de marrom, um suéter que sugeria dois voluminhos em seu tórax. A pele dela estava pálida, vibrante e os olhos, negros. Ela apontou com a cabeça o andar de cima.
Sobre o tapete manchado, uma moedinha.
— Como você me descobriu aqui? — perguntou ele.
— Que é que você acha?
Ele tentou um triptrap, mas estava mesmo deprimido e não conseguiria. — Você vai ficar me seguindo todos os dias da minha vida?
— Não consigo evitar. — Vicky tocou a cabeça. — Você está aqui dentro e agora eu não consigo te tirar daqui.
Pelo menos era no cérebro e não no coração. Ele conseguia entender a PES porque fazia sentido todo esse lance de eletricidade e ondas de rádio e toda a fiação molhada que formava o cérebro. A outra região do corpo seria muito esquisita. Parecia ser maior que o cérebro.
Freeman se sentou com um falso suspiro pesaroso. — Que você acha que vão fazer com a Starlene?
— Você não consegue fazer triptrap nela?
— Tô exausto. Mesmo um gênio como eu não consegue fazer funcionar o tempo todo.
— Tá deprimido?
Freeman colocou a mão no bolso para ter certeza de que o recorte de jornal estava bem escondido. — É, um pouco.
— A memória da gente é um inferno, né?
Ele olhou para ela. — Você vai me perguntar e me fazer falar sobre isso, né?
— Eu só quero ajudar.
Freeman pegou duas almofadas do sofá imundo e apertou as mãos. Ele não podia ficar com raiva. Não era culpa dela. Ela era como os outros — os psiquiatras, os policiais, os assistentes sociais, toda essa merda de sistema, todos querendo ajudar quando, na verdade, ajudariam se o deixassem sozinho.
Ele se dobrou até os pés e ficou olhando para longe dela. Pela janela da sala de recreação, ele via a cerca da frente, com o orvalho refletindo o sol sobre os arames farpados. Ela estava acima das montanhas, impávida e sólida como rocha. Se ele conseguisse chegar naqueles picos, lá em cima, onde ninguém o alcançaria — nem ele mesmo. Como Clint Eastwood em Escalado para morrer.
— Não quero ajuda nenhuma — disse ele por fim.
— Eu percebi isso assim que te vi.
— Então por que está me incomodando?
— Porque, se for pra gente sair dessa maluquice, vamos precisar um do outro.
— A gente nem sabe que maluquice é essa.
— Espíritos dos mortos. É gente morta.
— Detesto gente morta — disse Freeman.
— Você odeia todo mundo.
— Vem cá dar uma olhada.
— Não muda de assunto. A gente tava começando uma discussão.
— Beleza. E eu não quero você fazendo triptrap na minha cabeça sem a minha permissão.
Ele apontou para fora. O sol de outono estava todo no céu e cingia os montes fundindo-os em dourado. Finas nesgas de nuvens pendiam como cabelos prateados de monge num céu de lavanda. Os declives cheios de árvores estavam cor-de-abóbora e cor-de-ameixa.
— É lindo demais — disse Vicky.
— Caso não tenha notado, está do outro lado da cerca.
— A uns quinze quilômetros.
— A um milhão de quilômetros.
— Que é que você tá escondendo de mim, Freeman?
— Não tô escondendo nada.
— Não adianta mentir. Tem uma água negra passando debaixo da ponte.
— Eu disse pra você que não queria a sua ajuda e não quero falar sobre isso. E vê se não entra no meu pensamento.
— Por que você tentou se matar?
— Achei que você já soubesse.
— É o lance dos seus pais, né?
Freeman deu uma risada. — Claro, é sempre culpa deles. Você tá estudando psicologia, por acaso?
— Digo isso porque meus pais queriam que eu sumisse. Meu pai era muito ocupado pra me dar atenção e a minha mãe estava sempre ocupada tentando agradar ao meu pai. Ele sempre ficava desempregado, porque bebia, acho. Um dia eu estava na mesa, tomando meu café-da-manhã, e o papai tava lendo jornal. A mamãe trouxe pra ele uma xícara de café e voltou pra cozinha. Aí ele falou alguma coisa do mercado de trabalho, mas o que eu ia saber disso? Eu tinha uns cinco anos. Eu disse: “Papai, se você precisa de um trabalho, por que não vai no mercado de trabalho e compra um?”. Ele bateu com a xícara na mesa e olhou pra mim. Ele falou: “Você é mais uma boca aqui pra comer”. Ele nem gritou, nem nada, só falou aquilo como se estivesse me pedindo pra passar a manteiga. A mamãe veio correndo da cozinha com o pano de prato na mão. “Que confusão é essa”, ela veio perguntando. O papai olhou pra mim e disse pra ela: “Faz essa menina sumir”. A mamãe não entendeu; o papai tacou a xícara na parede e disse: “Faz essa piranhinha voltar pra onde ela veio”. Aí ele se levantou da mesa e saiu de casa. A mamãe olhou pra mim como se eu tivesse culpa por ele estar com raiva. Meu estômago começou a doer e eu corri pro banheiro e vomitei. O cereal passou arranhando a minha garganta. Mas eu me senti melhor, me curvei no vaso e achei que tudo melhoraria se eu sumisse.
Freeman continuou olhando para a janela, sentindo-se como um padre preso num confessionário, e perguntando-se como os padres conseguiam ouvir tanta merda que despejavam neles.
— Naquele dia eu mal comi no almoço: duas mordidas num sanduíche de mortadela — continuou. — E eu também vomitei. Talvez se eu fosse bem pequena, o papai nem ia me notar e a mamãe também ia ficar feliz. Só que o papai não voltou mais. E a mamãe acha que foi culpa minha.
Passei o resto da vida tentando ficar invisível.
Lá fora, um esquilo saltitou por um galho numa árvore, pulou para uma árvore próxima e se perdeu na folhagem. Freeman exalou. Seu hálito tinha um quê de moedas antigas. Ele não conseguia evitar: seus olhos estavam atraídos pelos dela.
Ele conhecia a dor que lá estava — já a vira no espelho inúmeras vezes. Talvez ele não tenha conseguido se livrar da dor e da autocomiseração. Talvez ele não fosse o único no mundo a estar completamente sozinho.
Ele a tocou no ombro. A pele dela estava morna. Um franzir de sobrancelhas se mostrou no rosto dela. Ela colocou os cabelos louros atrás da orelha, o gesto inconsciente que fazia Freeman sentir frio na barriga.
— Então você conhece os meus segredos — sussurrou ela.
— Acho que não — respondeu ele. — Eu acho que foi a primeira vez que você mentiu para mim.
Os olhos dela se arregalaram. — Eu juro que é tudo verdade.
Ele acariciou-lhe o rosto com as costas da mão. O gesto pareceu estranho. Natural. — Não, não a parte sobre querer desaparecer. Falei da parte sobre eu conhecer os seus segredos. Aposto que você tem um monte.
Os lábios dela se entreabriram, Freeman de repente começou um triptrap nela, não, ela estava fazendo triptrap nele, e eles estavam fazendo triptrap mutuamente e ela estava quase na parte da mente dele em que aquela longa noite estava armazenada, enfiada num canto qualquer das tranqueiras da memória, trancada com correntes e cadeados, ele tentando desviar os pensamentos dela e ainda assim eles vinham para dentro dele, e ele viu que os braços dele estavam em torno dela, puxando-a contra si com suas curvas misteriosas e os lábios dela estavam tão próximos que ele sentia o fluxo de ar de seu hálito.
Atrás de Vicky, a porta da sala de recreação se abriu e Freeman ficou congelado com o rosto a centímetros do rosto de Vicky. Ele sentiu o perfume dos cabelos dela, do mofo e do raio de sol.
Isaac apontou a cabeça para dentro da sala. — Qu’é que vocês tão fazendo aí?
Freeman soltou Vicky e se afastou um pouco. — Nada. Ela estava com um cisco no olho.
Vicky olhou para Freeman e deu um risinho maroto. — A educação física já terminou? — perguntou ela a Isaac.
— Tem uns garotos dizendo que a Starlene Rogers foi pra Treze — disse Isaac. — O Kracowski tá aplicando o tratamento nela.
— Não é possível — opinou Freeman. — Ninguém é imbecil a esse ponto, mesmo sendo um adulto.
— Será que ela viu a zona morta? — supôs Vicky.
— Vocês e essa zona morta — disse Isaac. — Vocês são pirados, sabiam disso?
— É o que eles sempre dizem pra nós — respondeu Freeman. — Vamos ver o que aconteceu com a Starlene.
— Espera — disse Isaac. Ele parou e pegou a moedinha do chão. — Olha o que eu achei. Coroa.
— Significa azar — disse Vicky.
— E existe sorte nesta vida? — filosofou Isaac.
Allen entrou na sala bufando como se eles estivessem tramando alguma coisa só porque não tinha ninguém tomando conta deles. Soou o sinal no corredor.
— Crianças, hora da aula, não se atrasem — ordenou Allen com um um tom de frustração. Talvez ele quisesse tê-los pego fumando, algo assim.
Eles passaram por ele e Isaac jogou a moedinha no ar. Freeman ficou se perguntando quantas moedinhas Vicky carregava nos bolsos.
CAPÍTULO 31
Um homem de uniforme parou o carro de Kracowski no portão principal. O guarda tinha uma prancheta sob um dos braços e o pescoço barbeado tão rente que estava vermelho. Kracowski abaixou o vidro do motorista e olhou seu reflexo geminado pelos óculos espelhados do guarda.
— Que negócio é esse? — perguntou Kracowski, indignado.
— Seu nome? — perguntou o guarda monotonicamente, quase entediado.
— O senhor só pode estar brincando. — Ele apontou para o pequeno rádio preso ao cinto do guarda. — Deixa eu falar com o McDonald.
O homem balançou a cabeça, com o olhar contido pelos óculos escuros. — Não tem nenhum McDonald. Senhor, por favor, o seu nome.
— Tenho uma ideia melhor. Por que o senhor não me dá o seu nome pra eu mandar comerem seu rabo por não saber quem eu sou?
Kracowski apertou o volante. McDonald e suas brincadeirinhas de espião. Quantos agentes mais da Fundação não estariam espalhados por Wendover sem que Kracowski soubesse? Provavelmente alguns no porão, num sistema paralelo ao sistema de segurança dele. E o próprio McDonald insistira em ficar num dos chalés dos conselheiros, aquele que vagou quando a mulher da limpeza foi embora de medo.
Pelo menos o guarda não parecia estar armado. Foi uma surpresa ver que o cara não tinha uma submetralhadora a tiracolo. Não dava para ter nenhum garoto xeretando, não com os superiores secretos do McDonald dando as cartas. A cerca eletrificada já foi um duro golpe, mas Kracowski se ofendeu com essa humilhação final.
— Eu estou aqui cumprindo ordens, senhor — disse o guarda.
— Ordens de quem?
— Não estou autorizado a dizer. Preciso verificar seu nome nesta lista e ver se o senhor está autorizado.
— Eu sou a autoridade aqui — retrucou Kracowski.
McDonald veio detrás da cerca de pedra e foi até o carro do Kracowski segurando um copinho de isopor. —Qual o problema? — perguntou ele ao guarda.
— Problema nenhum, Sr. Lyons. Estou só explicando a este senhor os procedimentos de segurança. Ninguém entra nem sai se não estiver com o nome nesta lista.
McDonald deu um tapinha no ombro do guarda. — Isso aí. Esse aqui eu garanto.
— Sim, senhor.
Para Kracowski, disse McDonald: — Destrave a porta do passageiro.
— Não seja ridículo. Estou indo pra casa. Acordei muito cedo hoje de manhã.
— Sim. Chegou aqui às 6h04, esteve na sua sala com a Paula Swenson até um pouco antes do amanhecer, depois aplicamos o tratamento na Starlene Rogers. Almoçou na sua sala. Salada de atum, iogurte e soda limonada diet.
— Não, calma aí...
— Destrave a porta.
— E se eu não destravar? Os guardinhas de aluguel aí vão me dar uma multa?
O rosto inexpressivo do guarda não se alterou. McDonald disse: — A coisa ficou mais séria. Achei que você gostaria de saber das novidades o quanto antes.
— Achei que vocês controlavam mais quem deve saber o quê. Você não se cansa de usar esses bordões, não é?
— Está muito espertinho pro meu gosto, doutor. Não se esqueça quem tem a chave do seu futuro, da sua carreira, do seu rabo. É só eu abrir o bico e é tchau-tchau pros seus brinquedinhos.
Kracowski olhou no retrovisor. As pedras de Wendover brilhavam sob o sol e as janelas refletiam a luz do sol vespertino. Nessas salas, havia crianças que precisavam de tratamento. Ele tinha o poder de fazer a diferença em tantas vidas. E o seu grupo no abrigo estava só começando. Se suas teorias chegassem à prática como ele esperava, seu nome seria sinônimo de uma revolução no campo da saúde comportamental. Freud, Skinner, Kracowski. Uma santíssima trindade.
Toda revolução, porém, tem suas manchas de sangue; toda liberdade tem um preço. A PES era o gênio que saía da lâmpada do conhecimento e a zona morta era o mistério por trás dela. Se a Fundação tirasse tudo da tomada nesse momento, Kracowski nunca conseguiria fazer a descoberta definitiva. Ele destravou a porta e esperou que McDonald se sentasse no banco da frente.
— Lyons, hein? — disse Kracowski depois que levantou o vidro. — Será que McDonald é um nome falso também? Acho que nem a própria mãe sabia o nome verdadeiro desse aí.
— São informações controladas, sim, e você não precisa delas agora. Toca esse carro.
— Pra onde?
— Pra sua casa.
Kracowski passou pelo portão. McDonald acenou para o guarda, que voltou ao seu posto, impassível como as colunas de pedra que sustentavam o portão.
— Por que esse cerco a Wendover? — perguntou Kracowski. — Você não acha que os moradores daqui vão começar a desconfiar de todas essas mudanças que estão acontecendo? Não se veem muitos agentes secretos do governo por aqui.
McDonald não disse nada. Virou-se para o banco de trás e pegou lá a pasta de Kracowski. — Qual a combinação?
— Você tá de brincadeira.
— Olha, eu não sou idiota, é claro que você não deixa todos os seus dados nos computadores de Wendover. Quero tudo o que você tem sobre a Starlene Rogers.
— Eu não estou guardando nenhum segredo. É você que está jogando fumaça por aí.
— Poupe suas palavras. Procuramos no seu computador de casa e sabemos tudo sobre as últimas experiências, exatamente as que você que ver esquecidas, encobertas por um sistema de merda.
— Não existe nenhuma acusação contra mim. Bondurant...
— Bondurant é um babaca, um bêbado. Ele só é útil caso alguma coisa dê errado, um boi de piranha. Aliás, ele nasceu pra ser vítima. Eu acho que você sempre soube disso.
Kracowski umedeceu os lábios e não tirou os olhos da estrada de cascalho. À direita ficavam os campos das fazendas que se estendiam em morrinhos, cortados por riachos e trechos de mata. Wendover ficava a quase cinco quilômetros de Elk Valley, muito útil quando os internos fugiam, porque eles sempre seguiam pela estrada principal direto até a cidade. Eles ficavam como esses animais que ficaram cativos muito tempo e perderam o instinto de sobrevivência.
— A combinação — insistiu McDonald.
Kracowski a revelou. McDonald abriu a pasta e remexeu nos papéis. Pegou os disquetes e os meteu no bolso. — Você é do tipo confiado, hein? Achei que ia ter um fundo falso.
— Eu lhe disse, não tenho nada a esconder.
— E os dados ocultos no disco rígido do seu computador de casa?
Kracowski olhou pelo retrovisor. Um sedã preto com películas nos vidros os seguia mais atrás. A maioria das pessoas que circulavam por aquela estrada dirigiam picapes. Kracowski virou numa curva e perdeu o sedã de vista.
— Na verdade, é tudo teórico. Você nunca conseguiria comprová-los. Fantasmas não existem, McDonald.
— Pelo jeito você também tem seus bordões.
— Você pode roubar meus disquetes, baixar meus arquivos, sondar todos os históricos dos casos, mas não vai achar nenhum vestígio que corrobore com essa história de vida após a morte.
— Exceto as visões que eu tive com meus próprios olhos.
E os olhos não mentem, não é verdade? Ele olhou pelo retrovisor. O sedã ainda os estava seguindo e se aproximando. As terras das fazendas começaram a dar lugar a uma área planejada, mansões com paisagismo e cercas de mourão. O caminho de cascalho virou estrada de asfalto e Kracowski pisou no acelerador.
— Pode ir devagar — instruiu McDonald. — Não é nenhum filme de James Bond.
— Estamos sendo seguidos.
— Não estamos, não. Estamos só indo para o mesmo destino numa velocidade alta demais.
Eles chegaram ao subúrbio de Elk Valley, um punhado de postos de gasolina e lanchonetes misturados com pontos de aluguel de esqui e estandes exibindo produtos manufaturados. O sedã reduziu até a velocidade máxima da estrada assim que Kracowski o fez, mas manteve a distância entre os dois carros. Kracowski virou à esquerda e logo eles estavam na estrada particular que levava à propriedade do médico.
A casa apareceu na estrada entre dois imponentes carvalhos. Era colonial, com exterior branco e venezianas pretas, muito maior que o necessário para Kracowski morar sozinho. Ele comprara a propriedade porque seus trinta e dois hectares de pasto e mata chegavam até a serra, impedindo qualquer construção vizinha acima dele. As montanhas sempre deram uma sensação de segurança, como se a terra e o granito repelissem todos os invasores.
Kracowski estacionou no celeiro e esperou McDonald. Ele decidiu suportar o tempo necessário para ver o jogo em que McDonald estava metido. McDonald acenou para o sedã, que parou em frente à casa. Dois homens saíram do carro; o motorista vestido como o guarda de Wendover e o carona de aparência familiar usando paletó esporte cinza com gravata. A porta de trás do carro se abriu e Paula Swenson surgiu à luz do dia. Ela usava os mesmos óculos escuros do motorista.
— Hora de você conhecer sua nova parceira — disse McDonald, saindo do carro de Kracowski.
McDonald foi na frente em direção à casa de Kracowski, colocou a mão no bolso e tirou uma chave. Em segundos a porta se abriu e McDonald deu um passo para o lado permitindo que os outros entrassem.
— Achei que seus agentes secretos usassem métodos mais sofisticados para invadir a propriedade alheia — disse Kracowski.
— Eu tenho essa chave desde que você conseguiu a sua — revelou McDonald. — Obrigado, Paula.
Paula quase sorriu para ele, mas seu rosto voltou à inexpressividade. Kracowski olhou bem para ela admirado, pensando se confundira o seu olhar matreiro de raposa com admiração e afeição.
— Nada acontece por acaso — continuou McDonald. — Você pode até pensar que se mudou pra cá de livre e espontânea vontade por causa da pesquisa importante que ia realizar em Wendover. Você nunca percebeu que a burocracia nunca foi empecilho? Nunca pensou por que o Departamento de Serviço Social nunca ficou nos seus calcanhares?
— Não vai ser surpresa quando você disser que minha casa foi grampeada. — Kracowski olhou para os cantos da sala de estar com outros olhos. — Deve ter camerazinhas espalhadas em todo canto. Onde estão? No relógio da lareira, por exemplo?
— Você é muito crédulo, Richard — disse Paula. — Você não deveria ter me deixado me mudar pra cá até me conhecer melhor.
Kracowski analisou os caras do sedã. O guarda ostentava uma inexpressividade tal que o rosto parecia que se quebraria se desse um sorriso. Ela tirou os óculos escuros, mas os olhos eram tão vazios quanto janelas abertas.
O homem de casaco cinza, por outro lado, tinha olhos que se reviravam nas órbitas como se ficassem procurando espectros. Seu rosto era enrugado e pálido, os cabelos escuros eram cortados bem rente, arrepiando-se nas laterais como os de um palhaço grotesco. Ele cheirava a sabonete institucional. Os dentes ficavam mascando o nada.
— Quero que conheça o homem que vai ajudá-lo a provar a existência da vida depois da morte — disse McDonald. — Alguém que estava trabalhando pra nós numa competência semelhante até ele passar por... problemas pessoais.
O homem ansioso acenou a cabeça para a lareira e pegou um peso de papel de vidro num cantinho empoeirado. Ele o segurou em frente a um dos olhos e olhou através do objeto, que deixou sua pupila dilatada e obscena.
— Dr. Kracowski, quero que conheça o Dr. Kenneth Mills, um considerado psicólogo clínico.
— É um prazer me conhecer, doutor — disse Kenneth Mills. Ele se virou abruptamente e lançou o peso de papel na lareira, espatifando-o. Os cacos de vidro se espalharam pelo tapete. McDonald e os guardas não se abalaram. Swenson mexeu na bolsa.
Mills riu maliciosamente, mostrando seus afiados incisivos para Kracowski. — Estou ansioso para trabalhar com o senhor. Por falar nisso, como está o garoto?
— Garoto? — perguntou Kracowski, desnorteado pelo ímpeto do homem.
O sorriso ficou mais amplo e mais agudo. — Meu filho, o Freeman.
CAPÍTULO 32
Starlene tocou na parede novamente só para ter certeza de que o mundo era sólido e real.
Ela ainda estava tonta por causa do tratamento, embora os fantasmas tivessem sumido assim que Kracowski desligou os aparelhos. Ou será que ainda estavam lá e ela só não conseguia vê-los? Qual o limite que eles respeitam? Será que a zona morta estava confinada ao porão de Wendover ou os espíritos estavam naquele exato momento passando suas mãos invisíveis pelo corpo dela?
Ela se sentia mais segura ali, no chalé, a trinta metros de distância, e não nas entranhas bolorentas do prédio do abrigo. Ela compartilhava o chalé com outra conselheira, Marie, que estava de férias. Uma pena, porque seria bom Starlene ter uma companhia, mesmo Marie sendo uma bahaísta. A plácida conversa fiada de Marie seria uma distração agradável das lembranças dos fantasmas.
Starlene pegou o telefone e ligou para o prédio principal. — Randy?
— É ele — respondeu com a mesma frieza que vinha mostrando desde o incidente com o homem no lago. — Está tudo bem?
— Preciso conversar com você.
— Você sabe que eu estou de serviço.
Ela tomou muito cuidado com o tom de voz. Ela detestava sinais de fraqueza ou desespero nos outros e, principalmente, nela mesma. — Você não consegue um conselheiro pra te render só por uns minutos?
Randy suspirou e colocou a mão no bocal do telefone. Ela ouviu a voz abafada dele chamando alguém. Momentos depois, ele voltou a falar. — O Allen vai me render. Estamos no intervalo entre aulas agora, não vai ter problema. Você está no seu chalé?
— Sim.
— Já estou indo. Tomara que seja importante.
Ela desligou e pensou em chamar o seu pastor para lhe perguntar se o plano de Deus no mundo aceitava a presença de fantasmas. O que Jesus faria? Se Jesus fosse um fantasma, o que Ele faria? O pastor, porém, não compreenderia: os milagres dele estavam restritos às páginas da Bíblia.
Ela se sentou no sofá rasgado de vinil que poderia estar ali desde os anos 1950. O restante da mobília era também ultrapassada, exceto pelo toques femininos que Marie e ela deram ao lugar. Ela pegou a almofada em forma de gato e a abraçou contra o peito. Algo fez sombra na cozinha e Starlene levantou os pés do chão e os colocou debaixo dos joelhos.
Um camundongo. Provavelmente só um camundongo.
Ela ouviu uma batida na porta. A princípio achou que era Randy, embora ele geralmente batesse com o fundo da mão em vez de fazê-lo com os nós dos dedos.
— Entre — disse.
Outra batida, mais suave que a primeira, e Starlene percebeu que a batida viera de dentro da casa. O banheiro. Não havia ninguém lá.
Ninguém.
Ela podia ficar sentada morrendo de medo, esperando Randy aparecer para salvá-la, ou podia abrir o banheiro e provar para si mesma que não era um fantasma que a seguira de Wendover até ali.
É difícil, no entanto, provar que fantasmas não existem, mesmo se você já viu ou nunca viu um com seus próprios olhos.
Ela colocou os pés no chão. Sob a mesinha de centro, uma Bíblia, versão King James, os Evangelhos. Ela a pegou. Geralmente as Bíblias funcionam contra o mal, não é? Ou seriam só as cruzes? E se os fantasmas não fossem maus?
Eles tinham de sê-lo, senão Deus os teria dado um lugar especial no céu.
Ela pressionou a Bíblia contra o peito e cruzou a salinha até o banheiro. Era um trabalho para o Eclesiastes. Ela procurou alguns versos que conhecia que fossem encorajadores e esclarecedores. Ouviu novamente a batida, como um sussurro insistente.
Starlene pegou a maçaneta da porta. O metal estava frio como uma bancada de necrotério. Ela quis correr, aí Randy a pegaria e a abraçaria, ela choraria no ombro dele, tudo estaria bem de novo e todas as coisas ruins iriam para longe e...
Correr seria uma demonstração de pouca fé.
Deus em Sua misericórdia nunca permitiria que alguém viesse de além-túmulo para prejudicá-la. Certamente os mortos estavam além do pecado. Até uma alma condenada por toda a eternidade teria revogada sua licença para causar dano.
Talvez essas almas fossem boas, gente cristã que ficara perdida no caminho para o arrebatamento.
A batida veio de novo, fazendo vibrar o ar da sala. A vivência na zona morta foi subjetiva, um pesadelo estranho e curto, uma lembrança planejada que se apagaria com o tempo. Isso era real, estava acontecendo.
Antes que dissesse algo a si mesma, ela virou a maçaneta e deixou a porta se abrir.
O garoto estava ajoelhado com o rosto branco como a louça da pia. A mão que tinha batido na porta estava suspensa, tremendo no ar. Os olhos eram negros, arredios e perdidos e o lábio tentava formar palavras. O sol cortou as cortinas num raio alaranjado e a luz repartia os cabelos do garoto junto com as partículas em suspensão no ar.
— Deke? — perguntou. — Por onde você andou?
Ele abriu a boca. Era um mendigo pedindo coisas impossíveis. Ela quis alcançá-lo, mas temeu a reação do garoto. Ela lera seu prontuário e até ajudou a enriquecê-lo. Comportamento sociopático não ligava e desligava igual interruptor de luz, independentemente da opinião do Kracowski.
A porta do armário de roupa de banho estava aberta. Deke devia estar escondido ali desde que desaparecera no dia anterior. Era fácil arrombar as janelas do chalé. Starlene entrou pela janela algumas vezes quando achou que tinha perdido a chave.
O silêncio dele era muito esquisito, então ela falou com voz de autoridade de conselheira que era. — Que você está fazendo aqui?
Deke nada respondeu. O garoto tinha suor na pele e, embora o rosto parecesse jovem e assustado, os olhos eram de um homem de noventa anos com uma doença terminal. O banheiro cheirava a vômito doce.
E mais alguma coisa.
Starlene deu um passo à frente com um arrepio na nuca que lhe arrepiava os pelos como fios elétricos.
Deke balançou a cabeça. — Não fui eu — sussurrou ele com espasmos em uma das pálpebras e os dedos tremendo.
Em seguida, Starlene viu o conteúdo da banheira.
Ela colocou as mãos no rosto, tentando bloquear as imagens vermelhas que chicoteavam sua mente. Ela recuou para a sala, implorando que as pernas funcionassem, gritando para que os pés parassem de ficar pesados, pensanso só na porta, no gramado, no céu límpido e sem fantasmas e sem coisas vermelhas na banheira e...
Ela sentiu mãos que a agarraram antes que chegasse até a porta da frente — duas ou duas mil. Ela gritou de novo e se livrou das mãos.
— Que foi, meu Deus do céu? — perguntou Randy.
— Lá — respondeu ofegante. As palavras tinham gosto de sapólio. Randy desapareceu no banheiro, voltando momentos depois.
— Se tinha alguma coisa, já foi embora — disse ele. — Aranha? Rato? Tem muito rato aqui.
Como ele poderia não ter visto? Não sentiu o cheiro?
— Na banheira — disse ela.
— Não tem nada lá.
— Cadê o Deke?
— O Deke? Você sabe que ele está sumido, né? Está tudo bem? Parece que você levou um susto.
Ela passou por ele e foi até o banheiro, protegendo-se contra a visão aterrorizante que a aguardava. A banheira estava vazia, exceto pelo frasco de xampu que caíra da prateleira e pela toalha molhada que caíra do trilho da cortina impermeável. Nenhum corpo mutilado, nenhum osso reluzindo, nenhum sangue deixando rastro na cortina.
E nada de Deke.
Ela escancarou a porta do armário de roupa de banho.
Nada além de toalhas, papel higiênico embalado, caixinha de primeiros socorros e embalagens de absorvente interno. Nenhum adolescente foragido.
Nenhum cadáver.
Nenhum fantasma.
Ela se virou e voltou para a sala de estar. Randy a seguiu e a esperou pegar uma garrafa d’água na geladeira e mandar para dentro metade do conteúdo, e disse: — De novo, não.
Ela se sentou na poltrona de brechó e ficou calada, puxando fiapos. — Como assim?
— Você viu o homem de novo, não viu? O cara do lago que você foi seguindo até quase se afogar. O homem invisível.
— Não. — As bolhas da água gasosa mordiscavam-lhe a garganta.
— Olha, Starlene, não precisa mentir pra mim. Eu achei que você e eu tínhamos um lance. Um lance muito legal chamado “confiança”.
— A confiança dura enquanto você não desistir dela.
— Confia em mim. — Me conta o que aconteceu.
— Pra você ficar rindo de mim de novo?
— Eu não vou achar graça de uma coisa assim. Estou preocupado contigo. Você precisa de ajuda.
Ela deu uma risada quebradiça como gelo. — Ajuda? Acho que já tive ajuda até demais.
— Me conta o que você achou ter visto ali. — Ele se sentou no sofá xadrez. O padrão contrastava com o xadrez da camisa que vestia e com suas sobrancelhas cor de areia. O rosto dele era quadrado, preciso, não era do tipo de rosto que perdoava tolices. Randy era uma rocha.
Deus também era uma rocha.
E a zona morta era um lugar árido.
E ela estava presa entre um e outro.
Os fantasmas não estavam aprisionados no porão de Wendover. Eles foram libertados pela energia eletromagnética ou pelas forças do mal ou pela vontade do Todo-poderoso. Os mortos pegaram seus mantos e partiram.
— O Deke morreu — disse ela.
— Ele fugiu. Não é a primeira vez. Geralmente ele chega na cidade, invade algum lugar, rouba cerveja e a polícia o encontra dormindo do lado de uma lixeira. Nós vamos encontrá-lo.
— Você não vai encontrar ninguém. Ele não fugiu. Ele veio pra cá.
Randy se inclinou para trás. — Pra cá?
— Eu o vi no banheiro.
— Viu o garoto? Ele não teria escapado daqui. O chalé só tem uma porta de acesso.
— Talvez ele não precise de uma porta.
— Querida, a gente precisa ir ao prédio principal. Você tem que falar com alguém.
— Alguém, tipo, além dos que não existem? A imagem de Deke ajoelhado, com a pele branca como cera e uma mão segurando...
Prata e vermelho.
Ela fechou os olhos. — Eu estou bem. Fiquei acordada até muito tarde, foi isso. Preciso tirar um cochilo antes do meu turno.
Randy apertou os olhos cinza. O bloco quadrado de seu rosto se suavizou. — Você está bem mesmo? Tem certeza?
— É. Estou sim, de verdade. Se uma psicóloga não consegue resolver essas coisas, a carreira dela provavelmente não vai adiante, né?
O rosto dele se dividiu num sorriso. — É assim que se fala.
Ele deu um tapinha na mão dela, se inclinou para frente e por um momento Starlene achou que ele a beijaria, mas lhe deu um abraço breve e se levantou. — Qual o horário em que você pega?
— Às quatro.
— Te pago um café, então. Bom cochilo.
— Randy?
— Oi?
— Que é que você está escondendo de mim?
— Nada.
— Você trabalha muito com o Kracowski. Qual é a dele?
— Não sei de nada. Lembra que eu falei pra você não fazer perguntas demais?
Ela assentiu com a cabeça, apertou a garrafa d’água gelada contra a testa e pegou a Bíblia na mesinha. A barreira entre eles era tão invisível quanto um fantasma, mas também podia ter quilômetros de espessura. Por quanto tempo seria possível alimentar a confiança? — Desculpe se eu te assustei.
— Nós vamos encontrar o Deke. Não se preocupe.
— Não estou preocupada.
— O Senhor é meu pastor...
— Nada me faltará.
Ele foi embora e o chalé ficou silencioso, só com o zumbido da geladeira e do leve farfalhar das folhas no rodapé exterior.
Mais cedo ou mais tarde ela teria de encarar.
Ela teria se olhado no espelho para ver se os olhos dela estavam mais brilhantes, o crânio rachado e o cérebro escorrendo das orelhas.
Ela teria visto seu reflexo de cima abaixo e se repreenderia.
A porta do banheiro ficou aberta. O armário do banheiro estava como ela o deixara. A banheira estava vazia. Deke não estava mais assombrando o lugar.
Ela abriu a torneira da pia e jogou um pouco de água fria no rosto. A mulher no espelho estava pálida, com os olhos assustados, mas ela já vira coisa pior. Ela se secou com uma toalha, depois viu a lâmina de barbear descartável que ela usara para raspar as pernas no dia anterior.
O cabo estava ao lado do vaso sanitário, armação da cabeça quebrada e as tiras plásticas rasgadas. As lâminas, no entanto, desapareceram.
CAPÍTULO 33
Freeman não conseguia se concentrar na aula de história. Desde que os abrigos se tornaram escolas financiadas pelo governo, com psicólogos e professores que formavam grupos para piorar uma situação que já era ruim, a educação se tornara mais uma arma a favor do sistema. O professor de história, por exemplo. Ele com certeza poderia ter estampado na testa “Aluga-se este espaço”, mas decidiu ser o cara que decidia quem era inteligente e tinha futuro e quem seriam os fracassados. Isso só porque ele usava uma gravata.
Os trastes acabam se achando e ficando entre si. A voz do professor era como um giz no quadro-negro enquanto ele falava de patriotas que entravam no navio dos outros e estragavam lotes de chá na baía de Boston. Vandalozinhos baratos. Agora eram aclamados como heróis.
As pessoas não sabiam muito sobre heroísmo naquela época. Para se ter noção do nível de desatino, os patriotas até se vestiam de índios. O professor os chamava de “guerreiros da liberdade”. Se alguém fizesse esse tipo de coisa atualmente, seria chamado de terrorista e ficaria encarcerado em observação sem direito a advogado — ou levaria um tiro à queima-roupa.
Bom, o lado vencedor é o que escreve os livros de história e liberdade é bem subjetivo. Ficar confinado num abrigo cercado de arame farpado no meio da Terra da Liberdade que Deus abençoara acima de todos os outros países era um pouco contraditório em relação ao que o professor ensinava. Ser submetido ao Serviço Social, que definia onde Freeman moraria não era exatamente o que a constituição chamava de “busca da felicidade”. A Primeira Emenda não impedia que os psicólogos fizessem infinitas incursões pela cabeça dele.
Freeman começou a achar que as únicas pessoas que faziam o que quisessem eram os adultos e os fantasmas.
Pelo menos a Vicky estava na aula. Ele se desligou da voz estridente do professor e olhou para a cabeça da Vicky. O sol incidia nos seus cabelos e o ar em torno dela quase se irradiava. Ela estava sentada na frente, perto da janela, um acidente na ordem alfabética. Freeman estava confinado ao meio da sala. Pelo menos ele tinha dali uma bela vista das montanhas e também da cerca que mantinha o mundo a uma distância segura.
Vicky deixou cair um lápis, curvou-se de sua carteira e mandou-lhe uma piscadela. Ele tentou fazer triptrap nela, captar alguma coisa sobre rosquinhas, algo que a fizesse sorrir, até que a porta se abriu e um homem de terno azul e óculos escuros entrou na sala e sussurrou no ouvido do professor.
Vestir terno tinha um significado em Wendover, por isso o professor o ouviu. Virou-se para a classe e disse: — Turma, tivemos uma emergência e vocês precisam voltar para os dormitórios.
A turma irrompeu em murmúrios de alegria e de rumores. Isaac fechou o livro com força e olhou para Freeman como se o acontecido fosse culpa dele. Isaac era sério demais quanto à escola. Ou talvez ele tivesse ficado assustado com a “emergência” porque, mesmo que Freeman tivesse falado toda essa baboseira de zona morta, Isaac tinha que admitir que as coisas ficaram muito estranhas no lugar.
Enquanto as crianças saíam, Freeman foi até a carteira de Vicky. — Que é que tá acontecendo? — sussurrou ela.
— Eu que vou saber? Tá me achando com cara de Nostradamus? Pergunta pro Fraldinha, ele é que consegue ver o futuro.
— Ah, então você está naqueles dias de mudar de humor. Só por isso vai fazer questão de fazer todo mundo sofrer um pouquinho.
Por que ela estaria zangada com ele? Ele achou que fossem amigos, talvez mais do que isso depois do que aconteceu de manhã, quando eles compartilharam um “momento especial”.
Essas meninas. Quem sabe o que elas estão pensando?
— Não tem problema nenhum ter medo — disse ela.
— Eu não estou com medo — retrucou, embora o homem de terno e óculos escuros estivesse virado exatamente para ele. O cara do terno estava coberto com o manto da Fundação — o cabelo cortado a máquina, o queixo partido, os sapatos polidos... Até o perfume fazia parte do pacote, uma tentativa vã de conferir alguma personalidade.
— Vou ficar pensando em você — disse a Vicky. O homem colocou a mão sobre o ombro de Freeman, que pensou em se abaixar e sair correndo para a porta, mas o que adiantaria? A sala era uma prisão, Wendover era uma prisão e o mundo além da cerca eletrificada nada mais era que uma prisão um pouco maior, porque ele estava condenado a uma sentença vitalícia dentro de si.
— Eu te devo uma moedinha — disse ela, e um relâmpago iluminou sua alma, seu esqueleto tremeu e dez mil duendes com sapatos de chapinha o atropelaram. Ela fizera um triptrap nele.
O do terno disse: — Sr. Mills, venha comigo.
Não era uma pergunta nem um pedido, só um fato da vida.
O do terno o conduziu passando pelo professor, que ficou remexendo nuns papéis da gaveta de baixo. Freeman não conseguiu resistiu a um chiste do Al Pacino: — Então não tem dever de casa?
O professor ficou apagando o quadro-negro mesmo sem nada escrito nele. Freeman virou para trás e viu Vicky, que levantou o polegar para ele. O cérebro dele comichava por dentro e ele não tinha como coçar.
No corredor, o do terno ficou ainda mais alto, com os sapatos guinchando enquanto ele fazia Freeman marchar para até um destino familiar.
— O senhor pode tirar a mão de mim agora — disse Freeman, tentando ser frio como Clint Eastwood. — Não vou fugir.
O do terno não disse nada; provavelmente sua cota de sílabas já chegara ao fim. O que esses caras aprendiam na Academia de Agentes Secretos além de evitar dar sorrisos? Nos velhos tempos, antes da mãe morrer, os caras como o do terno de vez em quando iam ver o pai dele. Mesmo com seus seis anos de idade, Freeman sabia que esses caras eram fria. Todos eles cheiravam a munição escondida e segredos.
— Eu sei o caminho — disse Freeman. — Sala Treze. Foi lá que eu passei os melhores momentos da minha vida.
Eles passaram pela sala do Bondurant e mais algumas salas de aula. A porta do laboratório do Kracowski estava fechada. Freeman se perguntou quantas pessoas estariam do outro lado do espelho bidirecional daquela vez. Com certeza o médico louco estaria rodeado de espectadores para o seu espetáculo favorito de rato no labirinto.
O do terno bateu na porta da Treze. A ala do prédio estava vazia. Podia-se até ouvir a poeira se acumulando nos cantos. A fechadura eletrônica apitou e o trinco deu um clique como uma pistola de carrasco.
— Olá, Freeman — Randy o cumprimentou.
Freeman não gostava de Randy não só porque ele era uma besta, mas porque o queixo dele era do tipo agente secreto. Ele exibia esse queixo como se fosse uma luva de boxe. Para reforçar esse sentimento, Randy também era conselheiro.
— Vamos ver se eu adivinho — disse Freeman, subindo na maca enquanto o do terno esperava na porta. — Ou eu fui selecionado como o próximo participante da “Roda do Medo” ou o doutor vai colocar os parafusos na minha cabeça de novo.
A voz de Kracowski veio de um alto-falante oculto no teto. — Nós nunca faríamos algo para prejudicá-lo, Freeman.
Ele fez um gesto de desdém. — Hitler também era sincero. E também todos os caras que jogaram o chá na baía. E Deus. E todos os desgraçados da história que acabaram com a vida de gente inocente.
— É uma pena que você se sinta assim. Achei que o último tratamento tivesse ajudado você a superar sua raiva.
— Mas eu não estou com raiva. Nunca estive tão bem.
Randy esfregou vaselina nas têmporas de Freeman e colou os eletrodos. Depois deu um tapinha na dobra do braço, pegou uma seringa e injetou uma viscosa e iridescente.
— Sério mesmo — disse Freeman. — Você não precisa tentar me convencer. Eu acredito que estou melhor.
— Não acredita, não. — Kracowski usou aquele tom familiar de todos os psicólogos que sujeitaram Freeman a uma sinceridade incondicional, um tom de presunção, exatidão, certeza absoluta, um tom que o próprio Deus teria usado se algo O fizesse falar.
— Precisamos das contenções? — perguntou Randy para o espelho.
— Precisamos, Freeman? — perguntou Kracowski.
— Prometo me comportar.
— Nós só queremos que você fique bom.
— Eu sei. Você e toda a polícia cerebral. Já pararam pra pensar que eu sou feliz mesmo sendo um suicida maníaco-depressivo? E outra: se vocês querem me ajudar, por que fazem esses testes de PES comigo?
Randy colocou a mão sobre o peito de Freeman e o forçou a se deitar; em seguida, soltou as tiras de lona debaixo da cama. Freeman ficou olhando para o forro do teto, tentando visualizar os aparatos e os fios das máquinas do Kracowski. As paredes deviam estar recheadas deles, como o sistema circulatório eletrônico da TSS conectado aos enormes tanques e computadores no porão, que era o coração do fazedor de monstros do médico louco.
O cérebro, porém, fica atrás daquele espelho.
Freeman estendeu o pescoço para olhar para o vidro frio enquanto Randy prendia as contenções acolchoadas em seus pulsos e tornozelos. Clint Eastwood nunca os teria deixado notar alguma hesitação. Clint teria pensado em algo inteligente a dizer, como se, para ele, viver ou morrer fossem quase a mesma coisa.
— O que você tem em mente desta vez, doutor? — perguntou Freeman. — Vai me trazer uma lembrancinha da zona morta? Quem sabe a sua mãe?
— Freeman, tente relaxar para que o tratamento faça efeito. É importante.
Randy fez uma última verificação das conteções. Tirou um mordedor de borracha de uma gaveta e o enfiou na boca de Freeman — sinal de que o choque que vinha por aí não seria pequeno. Freeman esperou Randy sair e fechar a porta e empurrou o mordedor com a língua.
— Quem é que está aí com o senhor, doutor?
— Só alguns... amigos.
Freeman tentou pensar numa tirada chistosa para dizer, como “Com amigos como os seus, quem precisa de inimigos”, mas seria muito cafona, além do mais a vaselina fazia sua pele coçar e ele sentiu uma pontada no peito e percebeu que nunca tivera tanto medo na vida.
Nem quando o pai o trancara num armário por dois dias.
Nem quando o pai o encurralara com o maçarico.
Nem quando ele saiu de um dos tratamentos com o pai e levou uma lâmina de barbear até o banheiro onde a mãe...
Não, isso nunca aconteceu.
Seus pensamentos viraram pedaços quebrados de alfabeto, a injeção bateu, as luzes diminuíram e os ouvidos estalaram e zuniam. O grito não saiu de dentro da garganta. Em vez disso, ele se arrastou de dentro do cérebro, contorcendo-se como um verme dentado, mascando o hipocampo e o tálamo e vomitando dor nas placas recurvas do crânio.
Os ossos viraram do avesso e os olhos estavam esbugalhados, mas ainda viam a escuridão além da cor, um pretume que nunca existira na natureza, uma massa sólida e negra que se infiltrava nos pulmões, sufocava o coração e vazava na corrente sanguínea.
Depois a escuridão amainou, dando lugar a um cinza manchado e as pessoas vindo em sua direção cruzando uma terra de névoas e mágoas.
A Milagreira os guiava, um Moisés dos condenados, nua, cega e linda. Todos se arrastando detrás dela, o curvado, o de olhos ferinos, o assustado, eram como seres inanimados, coisas impossíveis, espíritos que se agarravam a corpos que por direito deveriam ter sido há muito abandonados.
Freeman tentou gritar e pedir ao médico que desligasse as malditas máquinas e o tirasse daquele lugar desgraçado. Ele sabia, porém, por instintos mais antigos que a consciência, que este mundo estava interligado a outro mundo feito real somente pelas pontes humanas que se sujeitavam à TSS. Os que podiam ler pensamentos faziam gestos para aqueles trazidos dos mortos pelas máquinas sinistras do Kracowski. Freeman foi cortado do mundo real até que Kracowski apertasse os botõezinhos de Deus e tudo voltasse ao normal de novo. Ele estava completamente sozinho, tão sozinho quando Clint no deserto italiano brigando por um punhado de dinheiro.
Ele se desfocou, as contenções sumiram, o espelho sumiu, a Treze sumiu. Ele viu que conseguia se mover como se nadasse em água pesada, embora pudesse ver através da pele e pesasse quinhentos quilos. Os pés estavam perdidos em meio à névoa que cobria a zona morta como uma pele cambiante. Ele tentou correr, mas a Milagreira levantou uma das mãos e, embora as órbitas estivessem cortadas e vazias, a boca não era nada assustadora. A boca era triste.
Freeman olhou através dela a legião de desnorteados. Ele viu o velho de camisolão, aquele que passou por Freeman em seu primeiro dia em Wendover e que depois andou sobre as águas. Uma mulher curvada ficava balançando a cabeça, como se esta estivesse ligada ao corpo por uma mola, com dedos bizarros que puxavam os cabelos. Um homem magro de pele negra de macacão que mordia as pontas dos dedos. Um dos fantasmas, um homem com um rosto largo e inexpressivo, fazia uma desajeitada dança dervixe apesar de sua insubstância. Ele, também, vestia um camisolão institucional.
Freeman se afastou, tentando descobrir as leis desse novo universo, ordenando sua carne transparente para correr. Ele não estava respirando, mas o ar tinha um gosto de cinza. Atrás dele a fumaça se espalhava até onde lhe alcançava a vista e camadas de nuvens cinza marcavam as emendas do céu. Ele esticou a mão e as veias se misturavam com a zona morta.
Ele era parte da zona morta.
Ele era um deles.
Morto.
Um integrante daquela multidão doente e decadente, ostentando uma máscara de dor, desesperança e confusão. Acorrentado à sua humanidade, embora ser humano talvez fosse a punição mais horrível que poderia sofrer. Nem a morte os libertara de sua agonia. Eles devem ter vagado na zona morta por séculos, mas o tempo não significa nada ali, o que torna a sentença mortal a mais cruel de todas.
Seria Deus assim tão cruel?
O homem ebâneo mordeu o mindinho e o cuspiu na bruma.
O dervixe girou e os lábios se abriram para uma canção silenciosa.
A Milagreira se aproximou com as palmas em súplica, o globo ocular sobre elas olhavam para Freeman como se ele devesse a ela alguma explicação.
Freeman quis desaparecer, pular de volta para o mundo real com seu desespero habitual. Seus pés, no entanto, eram parte da névoa e sua pele estava costurada ao tecido daquela tapeçaria etérea.
A Milagreira estava a centímetros dele sob o olhar dos silenciosos espectros. Ela moveu as mãos até o rosto. Freeman tentou não olhar para seus seios brancos e curvas e o misterioso caminho negro entre suas pernas; depois ela moveu as mãos para fora e os olhos dela estavam nas órbitas; ela piscou e sorriu.
— Não vou machucá-lo — disse ela. Os lábios, contudo, não se moveram. Era um triptrap dos mortos. Escutar os pensamentos de outro era sinistro, claro, mas não era nada comparado às frias e agudas palavras que vinham da Milagreira.
Um triptrap dos mortos.
Depois mais pensamentos jorraram através dele, para dentro dele, uma multitude de vozes agulhando sua alma. Ele sentia suas dores e absorvia sua piedade desolada, ele comia suas doenças psíquicas:
Um espaço branquinho, branquinho pra escrever.
As respostas estão escondidas na televisão.
Eu sou uma árvore eu sou uma árvore eu sou uma árvore e vou embora.
As vozes na minha cabeça me mandam escutar.
Isso, doutor, eu ESTOU muito melhor, obrigado.
Muitas vozes, outras frases, restos de sofrimento subjugado.
A Milagreira disse: “Você ainda não pertence a este mundo”.
Freeman quis gritar que nunca pedira para estar ali, que pra começar nunca se voluntariara para ter PES, nunca quisera ter dons especiais, que queria ser só um garoto normal com uma mãe e um pai e uma casa que não lhe fizesse mal, sem brincadeiras estranhas com o papai e sem experimento nenhum, sem Departamento de Serviço Social, sem Wendover, sem Kracowski, sem Fundação e ninguém tentando curá-lo quando na verdade nunca estivera doente, mas então as vozes todas vieram juntas e ele sabia que era como ser insano, porque a zona morta não era nada além de uma terra de gente insana, e que ela certamente não era nada porque ele estava ali agora e era real e isso era tudo e pra sempre e Deus fizera um lugar como aquele para as pessoas que não conseguiam melhorar ou talvez gente insana fez Deus e as vozes na cabeça dele e os mortos de triptrap e sim doutor papai papai papai tinha um espaço branquinho, branquinho para escrever eu estou muito melhor agora televisão na minha árvore Deus é uma antena é um computador é um doutor estou muito melhor agora lâmina no meu cérebro e cortar fora a parte ruim e me dá choque doutor estou muito melhor agora me deixa em paz papai papai papai e porque você está morta mamãe...
— Você ainda não pertence a este mundo.
As palavras da Milagreira estavam mais suaves dessa vez e as outras vozes ficaram mais fracas como um rádio que cai num buraco e a fumaça se transformou em algo mais sólido, os fantasmas se dissolveram, a Milagreira sorriu e o cinza deu lugar à escuridão.
E Freeman estava sozinho na escuridão.
Quanto tempo tinha a eternidade?
Porém, assim que ele colocou a mão no peito para ver se o coração ainda batia, ele ouviu outra voz como um feixe dourado de luz.
Era Vicky e ela dizia: — Eu te disse que você não está sozinho.
CAPÍTULO 34
— Puxa-vida, como você cresceu — disse o Dr. Kenneth Mills para a janela escurecida.
Na sala do outro lado do espelho, Freeman olhava continuamente para o teto com os lábios formando sílabas sem sentido enquanto ele lutava contra as contenções. Kracowski observava o rosto do Dr. Mills. Nenhum instinto paternal de proteção em tão intensas feições. A única semelhança entre pai e filho era o pânico esquivo dos olhos. Pelo menos Freeman tinha a desculpa de ter tido um choque elétrico fazendo a carne raspar no esqueleto.
O Dr. Mills não tinha desculpa. A menos que a loucura servisse como desculpa. O advogado de defesa de Mills certamente usou a loucura como motivo. Mills acabara de servir seis anos num hospital psiquiátrico do estado e o pessoal do McDonald tinha poder o bastante para declará-lo “curado” e apto a se integrar à sociedade. Até os mutiladores de esposas eram remíveis no sistema de assistência psiquiátrica de hoje em dia. Kracowski se perguntou como Mills se sairia se passasse por uma TSS.
Kracowski puxou uma planilha de dados da impressora e a comparou com os gráficos na tela do computador. O eletroencefalograma de Freeman era forte, com alguns picos anormais, mas nada que indicasse uma lesão séria. As assinaturas magnéticas das faixas de frequência intermediária mostraram uma amplitude diminuída e o PET mostrava o cérebro de Freeman em cores quentes.
— O senhor expandiu minha teoria de uma maneira extraordinária — disse Mills.
McDonald franziu as sobrancelhas no canto do laboratório. Kracowski fingia estudar os dados. Mills se inclinou para frente, embaçando o espelho com o hálito. As paredes vibravam levemente por causa da aparelhagem que criava uma matriz calibrada de ondas eletromagnéticas.
— Mas seus dados ainda não são seguros — observou Mills. — O senhor deveria adotar minhas proporções de magnetismo em relação à eletricidade. Além disso, o senhor ignorou completamente os elementos subjetivos da minha teoria. Foco no hipocampo, onde é possível embaralhar a memória antes mesmo de ela se formar.
— Isso não era parte do acordo — disse Kracowski para McDonald. — Achei que vocês me dariam mais tempo e não me colocariam alguém para interferir.
— Não ouvi nenhuma objeção quando abrimos nossos arquivos e lhe demos a pesquisa toda — disse o agente. — Quem mais teria financiado e dado acesso a nossos corajosos voluntariozinhos? Não tem crianças enjeitadas às pencas por aí, não preciso dizer.
— Essa foi a parte mais difícil para mim — disse Mills. — Encontrar cobaias. Por fim, achei mais fácil gerar minha própria cobaia.
Na Treze, Freeman se debatia contra as tiras de lona, arqueava as costas e contorcia o rosto.
— Opa, essa deve ter sido das boas — disse Mills. — Gostei do aumento da tensão elétrica nessa sua versão. Esse choque bilateral é arriscado, mas consegue apagar a memória de curto prazo.
As mãos de Kracowski apertaram com mais força a folha de papel. A Terapia de Sinergia Sináptica era ideia dele. Mills fez alguns avanços na teoria de PES, acrescentando técnicas clássicas de lavagem cerebral para o deleite de seus patrocinadores, mas Kracowski notou os erros de Mills. Mills contava com a influência subjetiva, a interação humana, o poder de sugestão. Nada mais que fumaça e espelhos.
Kracowski reduziu o processo a ciência pura. Números frios e formas de ondas e lógica. Pensamento quântico. Verdade. Ele conseguira em somente dois anos o percurso que Mills vagara erraticamente por quase uma década.
— Dr. Mills, sinto ter que discordar do senhor — disse Kracowski.
Mills se virou da janela como se estivesse relutante em perder a agonia de Freeman, mas instigado a vencer qualquer argumento de qualquer natureza. — Como o senhor pode discordar de resultados?
— O trabalho do senhor é impuro. A conformidade com técnicas psiquiátricas tradicionais afetou seus resultados.
— Errado, Dr. Kracowski. A Fundação queria PES e foi o que eu fiz. Freeman. O primeiro ser humano da história mundial a ter o dom induzido por meios científicos.
— Mas o senhor só foi capaz de gerá-lo em um paciente. — Kracowski olhou para Freeman por cima do ombro de Mills e depois conferiu o relógio. — Tenho dezenas de históricos de caso que provam que minha terapia tem diversas aplicações, melhorando o funcionamento geral do cérebro e não concentrando em somente uma potência. Sou eu quem está descobrindo a prova científica da vida depois da morte.
McDonald observava como se os médicos fossem dois insetos brigando num pote de vidro. Finalmente ele falou: — Você se esquece quem é que manda. Esse é um erro que você não pode continuar cometendo. Nós decidimos o que é prova e nós decidimos quem está vivo e quem está morto.
Mills sorriu maliciosamente para Kracowski como uma abóbora de dia das bruxas. — Ele está certo. Ele sempre está certo.
McDonald pegou o papel das mãos do Kracowski e esquadrinhou os dados. — Nada de muito diferente.
— Quanto tempo? — perguntou Mills.
Kracowski verificou o computador. — Dez minutos e quatorze segundos.
— Devo confessar, Dr. Kracowski, que o senhor fez grandes avanços. Sob minha fórmula, Freeman estaria morto agora.
Antes de mais nada, Freeman tinha sorte de ter sobrevivido. Os experimentos de Mills iam longe demais. Tudo porque Mills se baseava no distúrbio emocional da cobaia. Tudo porque Mills precisava do choque final para levar Freeman além dos limites. Os arquivos de caso do Mills sobre seu filho eram cheios de traumas o bastante para lotar dezenas de enfermarias psiquiátricas. Aquelas sessões em que ele incutia os próprios pensamentos insanos no cérebro de Freeman...
— Pare em onze minutos — disse McDonald.
Kracowski se inflamou com o tom hipócrita do agente — como se McDonald tivesse a mais vaga compreensão acerca do trabalho. Pelo menos Mills entendia que a descoberta era mais importante que os efeitos resultantes da descoberta. McDonald só queria algo para mostrar aos seus superiores, uma arma tão abstrata que nunca conseguiria uma aplicação em objetivos militares. O conhecimento nunca servira a uma finalidade política positiva e a sabedoria raramente tangia o conhecimento, ao menos quando a preocupação era o poder político.
— Por que você quer parar em onze minutos? — Mills voltou para o espelho, saboreando a tortura estampada no rosto do filho.
— Supostamente é um número místico — respondeu McDonald.
Kracowski apertou os lábios evitando proferir alguma coisa e observou os dígitos piscando mais acima.
— O que o senhor acha que ele está vendo? — perguntou Mills.
Kracowski respondeu: — Pelo bem dele, espero que seja o futuro e não o passado.
CAPÍTULO 35
Sozinho, não. Sozinho, não. Sozinho, não.
Freeman surgiu na escuridão minguante. Vicky estava lá em algum lugar, presa na mesma zona morta cinzenta. Ele ouviu a voz dela novamente.
— Triptrap, Freeman. Vem, chega até onde eu estou.
Como ele conseguiria com os braços pesados como argila? Os espectros se dissolveram e as trevas o oprimiam de todos os lados. Ele queria falar, mas sua garganta estava entupida de oxigênio negro. Depois ele se lembrou de que não precisava falar — não em voz alta.
— Cadê você? — pensou.
— No Salão Verde — disse a voz de Vicky. — Eles nos fizeram ir pra cama.
— Eu os vi. Os espíritos dos mortos. A Milagreira...
— Eu sei. Eu fiquei com você o tempo todo.
— Como você conseguiu?
— Meu cérebro tá funcionando melhor agora, mesmo quando eu não estou na Treze. Eles devem ter turbinado as máquinas e talvez esteja vazando a radiação, vai saber.
— E como é que eu saio daqui?
Freeman virou a cabeça, procurou um crepúsculo sombrio qualquer naquela terra da meia-noite. Ele esperou não estar morto. Ele não queria ficar nem mais um segundo naquele lugar, que dirá uma eternidade. Ele ouviu um zumbido vindo de algum lugar ficando cada vez mais forte, como se um enxame monstruoso de insetos estivesse se aproximando.
— Vicky?
O céu se desintegrou e se tornou parte do enxame. A escuridão girou, os horizontes se estreitaram, um vento gelado soprava de algum lugar debaixo dele. Freeman gritou, mas as palavras se perdiam no absurdo do tornado. Enquanto sentia seu corpo se erguendo, ele tentou se agarrar nas trevas que momentos antes pareciam tão sólidas.
Ele se viu na maca da Treze. Sentiu a barriga tremer e a cabeça pulsar. Abriu os olhos e viu um mundo borrado de luz suave e sombras que se mexiam. Havia pessoas em volta da maca e, por um momento, Freeman pensou serem fantasmas. Fechou os olhos de novo, até que alguém afrouxou as contenções.
Ele ouviu uma voz que lhe atirou um singelo gélido no coração, uma voz que era pior que a morte, uma voz que o fez tremer, com lembranças transbordando daquele espaço escuro sob a ponte.
— Ei, soldado!
Papai.
Os olhos de Freeman se arregalaram como se estivesse acordando de um pesadelo — um pesadelo que estava ali, em carne e osso ao pé da cama.
Papai.
O lobo filho-da-puta.
Direto da máquina de fazer malucos.
Como ele encontrara Freeman?
Não, a pergunta não era como ele encontrara Freeman. A pergunta era: o que o fizera demorar tanto assim? Afinal, o pai prometera terminar o serviço. Depois que Freeman testemunhou na câmara particular do juiz, o pai ficou no tribunal e gritou para o filho com a boca espumando como se atestasse um autodiagnóstico de esquizofrenia sociopática. Freeman sabia desde os seis anos de idade que o pai nunca mentia, a não ser quando se tratava do prazer que sentia em ver a dor do filho.
— Vou fazer triptrap em você até a morte — gritara o pai naquele dia, seis anos atrás, e agora ele o repetiu tão suavemente que só Freeman escutou. E acrescentou: — Afinal nós dois sabemos o que aconteceu com a sua mãe, não é?
— Como é? — perguntou Kracowski.
— É uma piada interna entre Freeman e eu — respondeu o pai. — Não é, soldado?
“Soldado” era o nome carinhoso com que o pai chamava Freeman, geralmente em público quando queria simular afeto. Freeman, porém, sabia o significado por trás desse apelido e também por que o pai adorava atormentá-lo ao chamá-lo assim. Como na época em que ele amarrava Freeman às máquinas no armário e dizia: — Eu vou derreter seu cérebro igual eu fiz com seus soldadinhos. Porque você é um soldado. Você será um soldado numa guerra muito diferente.
Freeman esfregou os pulsos onde estavam esfolados pela contenção. Kracowski verificou a pulsação de Freeman, depois ligou uma caneta de luz nas pupilas do menino. Freeman olhou bem fixamente para a luz, esperando que ela a cegasse e ele não fosse obrigado a olhar para o pai.
— Nenhum sinal aparente de lesão neurológica — constatou Kracowski.
O pai empurrou o médico para o lado. — Muito bem, temos muito tempo pela frente, não é? — Ele olhou para Freeman com seu queixo fino, os dentes muito brancos e juntos e os olhos salientes.
Depois o pai fez triptrap nele, como antigamente, só que Freeman estava então mais preparado e o pai estava destreinado, e os estranhos pensamentos fragmentados do pai ricochetearam no escudo que Freeman levantara — um triunfo para Freeman.
Eu consigo vencer o lobo. Ele não vai me comer no jantar.
No entanto, a euforia se foi assim que o pai furou o bloqueio e ribombou em sua mente como um furacão de punhais. Para os presentes — Kracowski, Randy e McDonald — provavelmente pareceu que o pai estava se abaixando para dar um beijo na testa do filho. O que o pai tentava fazer na verdade era se aproximar bem do lobo frontal do garoto para instilar seu veneno através dos ossos cranianos de Freeman. O pai liberou sua carga como se estivesse guardando essa raiva por anos enquanto estava detrás das grades na unidade psiquiátrica de Dorothea Dix, fingindo melhoras, agindo como se a medicação estivesse funcionando e acreditando que Kenneth Mills — com certeza — tivesse cometido um erro terrível, mas que Kenneth tinha melhorado e, com as bênçãos benevolentes dos psiquiatras do governo que o declarariam são e íntegro, Kenneth Mills estava pronto para continuar de onde tinha parado.
E, claro, pronto para ver quanto dano Freeman conseguia suportar.
As palavras do pai chegaram cambaleando em fragmentos. — Que audácia... pensou que ia escapar de mim, né, seu merdinha? Kracowski está tentando roubar meu trovão... mas você e eu sabemos que sou o único daqui que controla a mente dos outros. Gente pirada... que babaquice é essa de espírito e zona morta... e você acredita mesmo que viu fantasma... você é o seu pai cuspido e escarrado, não é, soldado?... mais insano que o chapeleiro louco.
Igualzinho antigamente, na época em que o pai não tinha medo de se expor pelos interesses da ciência, com Freeman como seu melhor aluno. Kracowski chamava de TSS, mas o pai não precisava de uma sigla pomposa: ele chamava simplesmente de “triptrap”.
— Como ele está? — perguntou McDonald.
— Está perfeito — respondeu Kracowski.
— Não... quer dizer, ele aprendeu alguma coisa?
O pai mudou sua atenção de Freeman para Kracowski. Kracowski balançou a cabeça para McDonald. — Não é possível saber ainda. Meu tratamento foi criado para trabalhar num vácuo emocional. Vamos ter que ver como o paciente responde a esta perturbação.
— Perturbação? — gritou o pai para Kracowski. — É você que está perturbado. Eu estava certo, muito perto de uma grande descoberta. Você só chegou aqui, mexeu o bolo e colocou pra assar, mas a receita era minha.
Freeman suspirou aliviado porque o pai se retirou da cabeça dele por um momento e ele pôde respirar e pensar de novo.
O pai apontou um dedo para McDonald. — E vocês deviam ter me soltado muito antes. Só que eu era descartável: vocês acharam o Kracowski e julgaram que um cientista seria tão bom quanto qualquer outro. Agora vocês viram que precisam de mim porque o Kracowski tem esses escrúpulos moralistas idiotas que só vai apertar botãozinho...
McDonald atravessou a sala e lhe deu um tapa na cara. O golpe foi tão intenso que até Freeman chegou a senti-lo: uma dor bruta lhe atravessou a mente como um raio fulminante.
O pai caiu de joelhos, esfregando a bochecha em que levara o tapa. Ele sorriu. — Nada mau. Com um brutamontes igual a você encarregado desta operação, a Fundação está prestes a dominar o mundo.
McDonald se olhou no espelho inexpressivamente. — Nós tentamos proteger você, Mills. Só que você matou sua mulher, a Fundação não consegue abafar esse tipo de coisa, não da maneira que aconteceu. — Os olhos dele fulminaram Freeman. — Na frente de testemunhas.
— Foi em prol da ciência — explicou o pai. — Eu tinha que continuar a testá-lo. Admitam, mesmo com o pouco sucesso do Kracowski, Freeman ainda desponta como o mais brilhante de todos. Ele faz triptrap como ninguém, o primeiro espião mental funcional do mundo.
— Os resultados falarão por si.
Freeman tentou falar. — Desculpa. Não sei qual é o jogo, mas eu estou fora. Vocês podem me dar choque até o meu cérebro fritar, como aqueles ovos nas propagandas antidrogas, mas vocês não vão me quebrar.
Freeman se sentou e olhou para o pai, em seguida para McDonald. — Ele não conseguiu me queimar e Kracowski não tem a menor ideia do que se trata.
— Sinergia — disse Kracowski. — Revelar o potencial do cérebro.
— Errado — discordou Freeman. — O lance é o controle.
Os lábios de McDonald se apertaram num movimento que poderia ter passado por um sorriso no rosto de outra pessoa. — Controle. Até que o garoto não é burro.
— Só que você está errado também. Você pode construir as maiores bombas e os aviões mais rápidos e os produtos químicos mais mortais, mas tem uma coisa que vocês nunca vão controlar.
O pai se levantou e se inclinou novamente em direção a Freeman. Freeman se afastou, mas o pai estava novamente na cova do lobo e subindo para a ponte, comendo os pensamentos de Freeman.
O pai se levantou e riu. — O soldadinho aqui acha que vocês não estão buscando a PES, McDonald. Ele acha que vocês estão querendo os espíritos. É por isso que eles chamam os agentes secretos de “espectros”?
McDonald não disse nada. Randy aguardava na porta de braços cruzados. Kracowski olhou para o piso como se tentasse visualizar os espíritos que se imiscuíam nas brumas da zona morta.
Freeman esperou o choque da invasão do pai esvanecer e, em seguida, tentou contactar Vicky. Tudo era possível. A mente é uma máquina incrível, tão incrível que poderia ser usada como uma arma. Naquele momento, porém, ele só queria uma pinguela entre ele e alguém em quem confiasse.
Ele tentou o triptrap, mas os pensamentos não conseguiam ir além da sala.
Apesar das promessas, Vicky o abandonara. Sim, mas ele não aprendera desde sempre que não se devia contar com ninguém?
Ele estava sozinho de novo, exceto pelas vozes loucas e defuntas que sussurravam de todos os cantos de sua alma.
CAPÍTULO 36
Starlene quis tomar um banho para remover aquela sensação horripilante da pele, mas ela não conseguia entrar no banheiro. E daí se Randy disse que ela não vira nada? E daí se não existia fantasma e se somente Deus tivesse a capacidade de inspirar visões? As visões divinas eram de fogo e trovão e não de assassinos frenéticos e cadáveres ensanguentados.
Ela entrou no quartinho que dividia com Marie. Como faziam turnos, as duas raramente ficavam ali juntas. Ambas tinham moradia fora dali, por isso o quarto quase não tinha decoração e não refletia nenhuma das duas personalidades.
Starlene pegou um livro, uma publicação grossa e pesada do romancista sulista Jefferson Spence. Ela não conseguia se concentrar nas frases sinuosas e, depois da segunda alusão do escritor a níveos algodoais, ela fechou o livro e foi para a janela.
Acima do lago pairava uma névoa. Ela quase esperava ver o velho de camisolão flutuando sobre as águas. As nuvens se acumulavam nas montanhas trazidas por um vento leve. As sombras das nuvens se arrastavam pelos declives como enormes animais negros. O ar estava pesado de umidade.
Uma batida na porta a fez derrubar o livro que quase esmagou um dedo do pé. Ela parou no corredor só para ter certeza de que a batida não viera do banheiro. Não, era da porta da frente.
Quando abriu a porta, Bondurant acenou a cabeça para ela e, em seguida, cambaleou porta adentro antes que ela pudesse perguntar o que ele queria. O rosto dele estava pálido e suas mãos trêmulas. Ele ajeitou os óculos no nariz comprido e molhou os lábios.
— O senhor está péssimo — observou ela.
— Como se eu tivesse visto um fantasma?
— Pior um pouco. Talvez como se tivesse visto seu reflexo.
— Posso me sentar?
— Depende. O senhor está preparado para me contar o que está acontecendo?
Ele deu de ombros e olhou para trás, depois se esticou para ver os cantos do teto. — Tem que ter cuidado. Nunca se sabe quem está escutando.
— O senhor está procurando pessoas invisíveis?
— Aparelhos.
— Não tem ar condicionado aqui, o senhor sabe.
— Não estou falando de aparelhos elétricos. Estou falando de aparelhos eletrônicos: microfones, câmeras... — Bondurant tossiu e o hálito de bebida preencheu a sala. Olheiras roxas sob os olhos davam-lhe um aspecto insone e sequelado. Starlene não sabia o quanto podia acreditar no que ele diria.
— Tem alguma coisa aí pra beber? — perguntou ele, conferindo as bancadas da cozinha.
— O senhor está de serviço?
Bondurant suspirou e se sentou na beirada da poltrona. Ele não tirou o casaco. — Que aconteceu quando Kracowski colocou você na maca hoje de manhã?
— O senhor sabe. O senhor viu.
Ele mexeu a mão no ar. — Eu o vi apertando botões e acionando interruptores. Eu vi você na Treze. Eu vi que você engasgou e gritou e depois parou de respirar. E aí acabou. Eu quero saber mesmo é o que aconteceu.
— Sr. Bondurant, eu desconfio desse tratamento desde que comecei a trabalhar aqui, Aí o senhor vem me dizer que só agora tem alguma dúvida?
— O que você viu? — Ele se inclinou para frente com o rosto contorcido; ela se afastou e ficou perto da porta. Se ele se levantasse da poltrona, ela sairia correndo. — Você entrou lá, não entrou? — insistiu ele.
— Lá onde?
— No negócio. Achei que você era cristã.
— Eu sou cristã. Não tenho nem ideia do que o senhor está falando.
— Eles estão interferindo no domínio de Deus. Só Ele pode traçar a linha entre os vivos e os mortos. — Ele começou a falar mais rápido, juntando cuspe na boca. — Só Deus pode dizer quem entra no céu e quem tem que pagar no fogo do inferno. Então por que é que Deus, em Sua infinita sabedoria, deixa aquele monstro ateu trazer os espíritos dos que já enfrentaram o Julgamento?
— Olhe, tem muita coisa estranha acontecendo aqui, mas acho que o senhor não devia inserir Deus nesta história. Que a culpa recaia sobre os culpados.
— Esse é o problema. Eles tiraram Deus de tudo. O Supremo Tribunal tirou Deus das escolas, o governo defende as Nações Unidas que servem somente os ateus e agora eles tomaram conta de Wendover, exatamente onde eu consegui orientar muitas almas perdidas na direção da luz do nosso Senhor. — Ele deu um soco no braço da poltrona;
— O senhor viu também. A Milagreira e os outros também.
Os lábios de Bondurant se mexeram, mas ele não disse nada. A cor voltou-lhe ao rosto, um tom avermelhado menos alarmante que o cinza de antes.
— Está tudo errado — disse ele.
Algo caiu no chão do banheiro.
— É um deles — disse ela. — Que aconteceu com o Deke?
— Não sei.
— Não minta para mim.
— Por favor, Srta. Rogers. Não me faça...
— Tem alguma coisa na banheira. — Um ruído no banheiro ecoava nos ladrilhos de cerâmica. Era uma água ou outro líquido pingando num ritmo irregular.
— Eu não os deixei entrar — disse Bondurant. — Disseram que ninguém ia se ferir. Disseram que ficariam aqui por um ano só, que depois disso iam embora e Wendover teria todo o dinheiro que precisaria para se manter.
— Que gente é essa?
Bondurant deu de ombros, depois se encolheu, derrotado. Os ruídos no banheiro ficaram mais fortes.
Starlene abriu a porta da frente e olhou para o frio maciço de concreto de Wendover do outro lado do gramado. — Temos de tirar as crianças daqui.
— Você não está entendendo. — Bondurant mexeu na gravata meio amarrotada. — Ninguém pode sair daqui.
— O senhor pode ficar sentado esperando o que vai acontecer. Eu vou ajudar as crianças, porque tenho um compromisso com elas.
Bondurant riu, abafando os sons úmidos da banheira. — Senhora Bem-feitora. Você e todo mundo que acha que pode salvar o mundo pela bondade. Só tem um jeito de salvar o mundo: martelar todas as peças que não se encaixam até elas entrarem nos eixos. O amor não consegue transformar esses moleques em membros produtivos da sociedade. O que a gente tem que fazer é enfiar o temor a Deus neles a força e que eles queimem no inferno se não seguirem o caminho do bem.
— Vai dizer isso pro troço que está lá na banheira. — Starlene saiu do chalé, bateu a porta e foi em direção à área de cascalho atrás das árvores. A caminhonete dela conseguia levar umas quinze crianças na caçamba e depois voltaria para pegar o resto. Ela ainda não tinha um plano. Provavelmente ele os deixaria na delegacia. Randy a ajudaria. Ela tinha que encontrá-lo.
Bondurant a chamou da porta do chalé. — Não me deixe aqui.
Ela não olhou para trás. O vento ficou mais forte e mais nuvens se acumulavam no céu. Os bosques em volta estavam vivos com tanto movimento. Bondurant gritou alguma coisa, mas ela não conseguiu escutá-lo.
Starlene chegou à caminhonete, entrou na cabine, trancou a porta e deu a partida. Engatou a marcha e olhou pelo retrovisor. Ela estava ofegante e o pé resvalou da embreagem, fazendo o motor morrer.
Ela olhou para trás. Não havia nada na caçamba da caminhonete.
No momento, não.
Minutos antes, porém, Freeman estivera ali, segurando a mesma lâmina vermelha que Deke estava segurando no banheiro.
Ela sentiu um calafrio, deu a partida novamente e dirigiu até o prédio principal.
CAPÍTULO 37
Kracowski estava impaciente enquanto McDonald fazia uma visita guiada com o Dr. Mills pelo porão. Ele se sentia ofendido com essa invasão. Já era ruim McDonald se meter em seus experimentos, agora ele trouxera um rival cuja instabilidade beirava a psicopatia. Uma pesquisa científica de natureza assim tão delicada exigia uma mente calculista e as variações de humor de Mills eram quase tão rápidas quanto as do filho.
Pelo menos Freeman estava sob observação no Salão Azul no momento sob a guarda de Randy.
Mills assoviou de espanto enquanto inspecionava o maquinário que criava os campos de energia do Kracowski. Ele disse para McDonald: — Se vocês tivessem me dado essa infraestrutura, eu teria feito minhas descobertas há muito tempo.
— Naquela época nós queríamos o controle da mente — lembrou McDonald. — A PES era um subproduto.
— Não é assim com o governo? — perguntou Mills a Kracowski. — A gente dá as respostas e eles encontram novas perguntas. E pelo dobro do custo.
Kracowski indagou: — Como é que o senhor sabe que ele trabalha para o governo?
McDonald riu. — Você quer ver minha carteira de identificação? Eu tenho várias, uma em cada bolso, cada uma de uma agência diferente. Você tem um problema sério, doutor: não consegue confiar nos outros. Acho que você devia procurar um médico pra ver isso.
— Eu tenho algumas pessoas que posso lhe recomendar — acrescentou Mills.
Kracowski não gostou da forma com que brincaram com o assunto. Essa pesquisa era muito mais importante que qualquer técnica de espionagem ou lavagem cerebral que pudesse ser descoberta ali. Ele não esperava que McDonald conferisse nenhuma significância à descoberta, mas com certeza Mills poderia apreciar as implicações semidivinas da vida após a morte, a menos que a loucura o tivesse levado para tão longe do mundo normal que, para ele, os milagres não teriam importância nenhuma.
— Qual a próxima etapa? — perguntou Mills.
— Do penhasco para o abismo — respondeu McDonald. Ele bateu de leve com a base da lanterna num dos tanques de hélio. — A gente tem que forçar um pouco mais essas crianças e ver se elas aguentam.
Mills, com seus olhos negros no rosto pálido, esfregou as mãos. As sombras opacas do porão faziam as bochechas dele ainda mais chupadas e macilentas. — Apesar da sua teoria da harmonização dos padrões elétricos do cérebro, Kracowski, acho que o efeito funciona melhor quando o cérebro é estimulado. Quando a gente quer ferver água, tem que aumentar o fogo.
— Foi o que eu li nos relatórios do que o senhor fez com o seu filho.
— Não me julgue, doutor. Ele era a cobaia perfeita e um dia vai entender. Freeman verá que eu sacrifiquei sua segurança emocional pelo bem de um mundo livre. Em última instância, pelo bem da raça humana.
— O amor pelo mundo versus o amor pelos próprios descendentes. Melhor o senhor anotar isso para a próxima publicação sua em algum periódico.
— Chega — disse McDonald. — Deixem a guerrinha de travesseiros para outra hora. Neste exato momento, tenho uma missão a cumprir.
McDonald ligou a lanterna e foi em direção ao corredor principal, por dentro das entranhas frias e emboloradas de Wendover. Mills segurou o cotovelo num escárnio, como se estivesse guiando Kracowski. Kracowski o ultrapassou e seguiu McDonald.
A fiação do prédio estava corroída naquela seção, roída de ratos, e não fora restaurada quando o prédio estava sendo reformado para servir de abrigo para menores. Kracowski nunca esperou que essas salas fossem usadas.
O agente chegou à primeira cela. A pesada porta metálica estava marrom de ferrugem. A porta era sólida, exceto pelo mecanismo deslizante que abria e fechava o lugar por onde passava uma bandeja de comida. McDonald jogou o foco da lanterna na cela. Pedaços de argamassa entre as lajes foram raspados por um dos antigos ocupantes da cela. Kracowski sentiu um arrepio pensando nos dedos sangrando em carne viva até os ossos.
— Época boa, o pessoal sabia o que era um tratamento — disse Mills. — Nada de passar a mão na cabeça, remedinho, passeio na cidade. Se eles quisessem entrar nas naves espaciais ou dançar com os anjinhos, tinham que raspar a parede até conseguirem sair.
Kracowski não gostava de ficar ali e não era só por causa das ditas manifestações. Ele ainda não estava totalmente convencido de que os mortos podiam voltar para este mundo, mas sabia que a dor, o sofrimento e a insanidade eram muito reais ali naquela cela apertada. Talvez as emoções se cimentassem nas paredes e se tornassem parte da estrutura do prédio. Ele teria de investigar essa teoria quando terminasse os assuntos com o McDonald e com a TSS.
— Acho que aqui está ótimo — disse McDonald.
Kracowski percebeu que o ar rançoso engolira as palavras de McDonald e não gostou nada. — Ótimo? Para quê?
— Para o próximo estágio?
— Achei que tínhamos concordado em fazer mais tratamentos da Treze, pelo menos por mais alguns meses. Temos que verificar nossos pacientes em relação a um grupo controle, senão os resultados vão ficar incoerentes.
— Acho que o Dr. Mills estava no caminho certo. Qual cobaia nossa tem mostrado maior potencial?
— Freeman. — Kracowski olhou bem no fundo dos olhos de Mills e não viu lá nenhum sinal de arrependimento. — Emocionalmente ele também é o mais perturbado dos pacientes.
— Exatamente — concordou McDonald. — E quem mais mostrou algum... talento?
— Vicky Barnwell. Edmund Alexander. Mario Ríos.
— Eu li os relatórios de caso. Todas elas problemáticas.
Mills deu um sorriso perverso. — Ótimo grupo de teste. Um maníaco-depressivo, uma bulímica, uma vítima de abuso sexual e um mentecapto. Um grupo de teste com variedade étnica e sexual.
— Acho que a gente precisa colocar um pouco de pressão — disse McDonald. — Veja como eles reagem. Se eu compreendi suas descrições corretamente, o campo é mais forte aqui embaixo.
— Só que não dá para controlar e isolar o foco dos campos fora da Treze — explicou Kracowski. — Vamos perder nossa padronização.
— Você pode publicar suas teoriazinhas em todos os periódicos de psiquiatria do mundo se quiser, contanto que deixe a percepção extrassensorial fora disso. E se começar com essa baboseira de fantasma com seus respeitáveis colegas, não vai demorar para você sentir o acolchoado de uma cela. Quando a Fundação precisa desligar alguém, é mais fácil arrumar uma declaração de insanidade que matar e colocar em risco o nosso desfarce. Não é, Sr. Mills?
Mills levantou os dois polegares e voltou a atenção para o vaso sanitário de aço inox entupido no canto da cela. — Acho que eu preferia um balde.
— Então, essas paredes lhe trazem lembranças, doutor? — McDonald perguntou a Mills. — Como é ser chamado de lunático?
— Podia ser pior — respondeu Mills. — Mas eu aprendi uma coisa: a linha que divide a sanidade da insanidade é invisível. Tudo depende de qual lado das grades a gente está.
McDonald forçou a porta. As dobradiças rangeram e a porta mal se abriu. O brilho azulado da aparelhagem do lado de fora foi quase todo interrompido e a única luz da cela era a da lanterna de McDonald. Kracowski tremia só de imaginar o horror de ser trancado numa solitária de confinamento como aquela.
Mills notou seu deconforto. — Claustrofóbico, doutor?
— O senhor já ouviu falar em “empatia”?
— Eu tenho conseguido evitar essa fraqueza. Ela faz a gente se preocupar demais com os outros.
— Então o senhor só se importa consigo mesmo — supôs Kracowski.
— Nada disso. É o senhor que está nesta em busca de ganhos pessoais. Eu almejo algo maior que todos nós.
Ouviu-se um arrastar de pés no corredor. McDonald abriu a porta da cela e moveu o foco num arco horizontal. — Quem está aí? — perguntou com voz de autoridade.
Ninguém respondeu. Kracowski ficou atrás de McDonald e perscrutou as sombras. O zumbido da aparelhagem ficou mais alto e o brilho na área principal do porão pulsava como as batidas de um coração.
— Não era para isso acontecer — disse Kracowski. — O programa só é acionado pelo computador na minha sala.
— Eu sei quem é — disse Mills sentado no catre corroído e mofado.
Kracowski pegou a lanterna da mão de McDonald. O agente o afastou com uma cotovelada. O zumbido aumentou de intensidade como um jato se preparando para decolar.
— Tem alguma coisa errada — alertou Kracowski.
— Ela quer brincar — disse Mills.
McDonald jogou o facho de luz no rosto do Dr. Mills. Os olhos do homem estavam como duas bolas de pingue-pongue, com as íris reluzindo de um prazer secreto e distante.
Em seguida, Mills deu uma gargalhada, daquelas que Kracowski escutara durante sua residência no Hospital Sycamore Shoals. No andar superior, os casos terminais, os que tinham cruzado as fronteiras da razão, uma terra à qual poucos eram convidados e da qual ninguém voltava.
McDonald atravessou a sala e puxou Mills pela camisa. — Fala logo o que está acontecendo, desgraçado.
— É muito melhor do que eu sempre sonhei — disse Mills.
Kracowski foi até o corredor e olhou em direção à fileira de placas de circuitos e para os tanques. As placas se acenderam em ondas aleatórias de verde, vermelho e amarelo. O dínamo principal uivava como um animal preso numa armadilha. O ar estava morno e o cheiro de cobre quente tomou conta do porão.
— Ela é o fantasma na máquina — disse Mills. — Lembram daquele disco do The Police? Espíritos no mundo material. Iii-io-ô. Iii-io-ô.
McDonald agarrou Mills pela camisa e o empurrou para fora da cela. O agente jogou Mills contra uma parede e apertou a lanterna sob seu queixo. O estranho ângulo da luz fez com que os olhos de Mills parecessem mais saltados e perturbados.
— Diz o que está acontecendo — gritou McDonald num volume acima do ruído das máquinas.
— Ela assumiu o controle — disse Mills. — O senhor não leu meu artigo sobre anomalias mecânicas?
Kracowski se lembrou de uma conversa de anos atrás sobre estudos realizados na Universidade de Princeton de como os geradores de números aleatórios podiam ser influenciados por telepatia. Na época ele e o restante dos profissionais ridicularizaram a possibilidade. Esse torpilóquio fora o campo de pesquisa do Centro de Pesquisas Rhine e outros ilusionistas da nova era.
Naquele momento, o impensável era real e fazia sua coluna formigar.
Kracowski sentiu um ligeiro puxão e percebeu que o campo magnético estava atraindo tudo que era de metal: zíper, fivela de cinto, caneta no bolso, ilhós do sapato.
— Ela esta aqui — disse Mills.
Kracowski olhou para o fundo do corredor em direção ao coração tenebroso do porão. O nada se mexia pelas sombras com uma característica ondulante e líquida. Que será que Freeman e os outros viram na escuridão?
— Sofrimento — disse Mills. — Nunca pude imaginar que seria tão doce. A aflição de Freeman era uma alegria, mas isto...
McDonald empurrou Mills. O médico perturbado se sacudiu com o golpe e sorriu. — Dor comum. Não vai me atingir com dor comum. Essa dor eu como com farinha.
Kracowski impediu que McDonald desferisse outro golpe, dessa vez no rosto de Mills. — Não vai adiantar nada.
McDonald olhou para o equipamento com o rosto enrugado de preocupação. — Não vai dar pra substituir esse equipamento se ele derreter.
Kracowski verificou os medidores na caixa de amperagem mais próxima. O ponteiro tremulava na região vermelha, mas o fluxo era irregular, diferente do comportamento da eletricidade em condições normais.
— É a Milagreira — disse Mills.
McDonald olhou para Kracowski. Ele balançou a cabeça. Mills já era, fritou. A agência para a qual McDonald trabalhava, seja lá qual fosse, cometeu um grande erro tirando o médico do sanatório. Talvez o erro tenha sido cometido anos atrás, quando Mills decidiu que a mente poderia ser mapeada e direcionada e, de lá, que o espírito poderia ser escravizado.
Kracowski sentiu um súbito afã de vergonha por sua tola ambição. Mesmo se Deus existisse, havia um domínio fora dos limites para os que vivem e respiram. Esse domínio fora invadido com a negligência e a força bruta dignas das hordas de Átila, dos tanques de Hitler, da KGB de Stálin.
McDonald aproximou seu rosto do rosto de Mills. — Fala pra mim. Diz o que tá acontecendo ou seu rabo vai entrar numa camisa de força tão apertada que você vai cagar na calça antes do Gardenal subir pra cabeça.
— Você não sabe o que está acontecendo? — gritou Mills. — Eu estou com ela. Eu estou dentro dela. Ela está morta e eu estou lendo a mente dela
A risada dele penetrou nos ouvidos e nos ossos de Kracowski, onde ela se instalou com a frieza de um túmulo.
— Certo. Tudo bem. — O rosto do McDonald ficou inexpressivo como se fosse usado nos feitiços maníacos de Mills. — Vamos começar com a menina Barnwell.
CAPÍTULO 38
— O Dr. Kracowski me pediu para levá-lo — disse Starlene para Randy.
— Sinto muito, querida, mas não posso deixar — disse Randy. — Não posso deixar o Freeman ir com mais ninguém além do médico.
— Você não pode deixá-lo trancado o dia todo.
— Ele está com uns livros. Além disso, esses pestinhas sempre gostam de brincar com suas brincadeiras mentais.
— Randy. — Ela olhou nos olhos dele, mas não havia nenhum vestígio da paixão que antes neles ardiam. — Diz pra mim o que está acontecendo. Por favor.
— Você sabe mais do que eu. É você que tem essas visões.
— Não faz assim.
— Olha, as coisas complicaram muito. Em primeiro lugar, eu não devia ter me interessado por você.
Ela fingiu estar magoada e mordeu o lábio inferior enquanto olhava por ele até a porta do Salão Azul. Uma fechadura comum e uma de senha eletrônica. Randy estava com um chaveiro no cinto, mas como ela o enganaria para revelar a combinação da fechadura eletrônica?
— Você sabe o que acontece na Treze — disse ela.
— Você passou por aquilo, não foi? — Ele olhou para o final do corredor em direção aos laboratórios do Kracowski, que ficavam logo depois da esquina.
— O Dr. Kracowski te obrigou a passar por um tratamento? — Ela tocou a cabeça como se estivesse sofrendo de enxaqueca.
— Você não tem nada a ver com isso.
— O Dr. Kracowski está escondendo o jogo de você. Você não pode confiar nele. Você sabia da PES?
— Agora já é paranoia. Acho que você tá precisando mesmo é de uns dias de folga.
— Caso não tenha notado, Wendover virou um campo de concentração. Com arame farpado e guardas armados.
— Eles não estão armados.
— Não que a gente consiga ver. Mas o Kracowski tem um quê de semelhança com o Mengele, você não acha?
— Kracowski nunca machucou ninguém. Ele cura essas crianças. Ele as deixa melhores. Eu já vi com meus próprios olhos, muitas vezes. Este trabalho é importante e não vai ajudar nada você ficar metendo seu nariz em tudo.
— Com certeza, então ele me curou, tá legal. Eu passei por uma TSS; você quer saber o que eu vi?
Randy engoliu seco. — Eu...
— Ou será que você consegue ler meus pensamentos?
— Espera aí. Eu disse que nunca passei por tratamento nenhum.
— Eu quase acredito em você. Quantos tratamentos são necessários para você começar a ler a mente dos outros fora da Treze? Eu só consegui por alguns minutos e o efeito foi embora logo depois. Mas eu vi muita raça de coisa enquanto a máquina fazia efeito em mim.
— Eu não acredito nessas coisas. Não existe fantasma. Deus nunca permitiria algo assim.
— No entanto Ele permite que exista quem leia a mente dos outros?
Alguém estava se aproximando pelo corredor, os passos de sapatos pesados ecoavam na ala adjacente. Uma porta se abriu e os passos subiram as escadas.
Starlene abaixou o volume da voz. — Eu nunca acreditei em PES e só acreditei em um tipo de vida após a morte. Eu não pedi pra ver nada disso. Eu só queria ajudar as crianças.
— Tem um jeito de você ajudar o Freeman: deixa ele em paz. O Dr. Kracowski sabe o que é melhor pra ele. A gente não é nada perto do que está acontecendo.
— Tem certeza de que não passou por nenhuma lavagem cerebral? Eu aposto que, com tudo que o Dr. Kracowski queria, transformar alguém em zumbi ia ser brincadeira de criança. Talvez a PES possa ser manipulada para funcionar como uma via de mão única, colocar pensamentos lá mas não deixá-los sair.
Randy a pegou pelo braço. — Eu estou servindo a Deus, assim como você. Você dissemina a glória do Senhor por meio do amor e da compreensão e eu ajudando na nossa missão de melhorar a alma humana.
— Com certeza você foi manipulado pelo Bondurant. A marca da salvação, típica dele.
— Deus fez Jesus sofrer.
— Ah, então você acha que é Deus também? Ou o Deus de verdade é Kracowski e você é só um profeta?
O walkie-talkie na cintura de Randy fez um ruído. Ele o puxou do cinto e se virou para longe de Starlene. Ele falou num tom baixo, depois deu alguns passos pelo corredor para que ela não conseguisse ouvir. Starlene aproveitou a oportunidade para olhar a fechadura mais de perto.
Randy guardou o walkie-talkie e meteu a chave na porta do Salão Azul. Seus dedos teclaram o código eletrônico no teclado tão rápido que Starlene não conseguiu memorizar a sequência. — É melhor você ir embora.
— Eu quero ajudar.
— Você vai ajudar se for embora.
A porta se abriu com a chave de Randy ainda na porta. Freeman ficou esperando. Detrás dele, a fileira de catres estava toda arrumada. Não havia ninguém no salão.
— Estou pronto — disse Freeman a Randy. Ele olhou de esguelha para Starlene. — É melhor não se meter, como ele disse.
— Eu só quero ajudar — insistiu.
— É. Todo mundo sempre só quer ajudar. Esse é o problema. Já me ajudaram tanto que eu estou farto disso. Vocês vão me matar de tanta ajuda. Pelo menos o pessoal da Fundação é sincero quando dizem o que querem.
— A Fundação?
— Cala a boca — disse Randy a Freeman.
— Ah... Então ela não sabe? Eu achei que vocês eram almas gêmeas. — Freeman deu um sorriso mais ardiloso e sardônico que o habitual.
— Do que ele está falando, Randy?
— Eu achei que um diploma de psicologia automaticamente transformava a pessoa num sabe-tudo — disse-lhe Freeman. — Com o meu pai, pelo menos, parece que sim. Ele tem uns três diplomas, então ele sabe mais do que tudo.
Freeman apontou para o walkie-talkie de Randy. — E isso aí é ótimo pra manter um segredo, mas não funciona com as pessoas que leem pensamento.
Randy deu um passo à frente com a boca contorcida de raiva. Freeman voltou depressa para o dormitório.
— Vem aqui, seu espertinho — ordenou Randy. Freeman piscou para Starlene e correu entre as fileiras de catres. Randy gritava enquanto o perseguia. Starlene esperou até que eles chegassem ao fundo do dormitório, conferiu o corredor nas duas direções, entrou e puxou a porta até quase fechar. Freeman estava encurralado e Randy subiu num dos catres, observando os olhos do garoto.
— Faz ele sair dali — gritou Randy para Starlene. Ela se aproximou para pegar Freeman. Randy avançou em Freeman, que tentou se esquivar, mas Randy era mais rápido e mais forte. Ele o agarrou e lutou com o garoto de barriga para o catre. O walkie-talkie dele caiu do cinto e quicou no chão enquanto eles lutavam.
— No meu bolso de trás — disse Randy para Starlene. — Prende essa peste logo.
Starlene puxou as algemas do bolso de Randy. Freeman se debatia e se contorcia, com os gritos abafados pelo travesseiro em que sua cabeça era pressionada. Randy colocou o joelho nas costas do garoto, depois puxou a mão dele para trás e foi pegar as algemas.
— Aqui — disse ele. — Anda logo.
Antes que Starlene pudesse pensar, ela travou uma das algemas no pulso de Randy. Ele se virou para ela surpreso e, enquanto hesitou, Starlene fechou a outra algema na armação metálica do catre.
— Desgraçada — disse Randy, tentando acertá-la com a mão livre. O golpe pegou no lado do rosto e ela caiu no piso de concreto. Randy meteu a mão no cinto onde ele prendia as chaves. Ele percebeu que deixara as chaves na porta e seu rosto se contorceu numa máscara de fúria.
Freeman rolou pelo catre enquanto Randy tentava se soltar. Freeman limpou o sangue dos lábios e ajudou Starlene a se levantar. Ela esfregou o rosto. A pele não estava cortada, mas seu pulso ardia por debaixo da pele.
— Eu sinto a sua dor — disse Freeman.
— Eu também — disse ela.
Randy pulou do catre e tentou agarrá-los, puxando a algema. O catre era parafusado no piso, embora a armação chacoalhasse com o esforço. — Vou matar vocês dois.
— Ótimo — disse Freeman. — Mal posso esperar pra virar um fantasma e voltar pra assombrar você.
Starlene pegou Freeman pela mão. — Vamos sair daqui.
— Aonde a gente vai? — perguntou ele.
— Achei que você conseguisse ler a mente.
— Bom, eu percebi que você estava tentando me resgatar, mas não tem um plano, né?
Eles chegaram à porta. O corredor ainda estava vazio. Starlene olhou de novo para Randy, que parara de puxar o pulso algemado. Ele estava ocupado tentando desparafusar o catre. Ele tinha bastante trabalho pela frente até remover todos os parafusos um de cada vez, mas uma hora ele terminaria e conseguiria correr a argola até uma emenda parafusada do catre.
— Droga — disse ela. — Bom, acho que nosso segredo vai ser revelado em breve.
— Esse lugar tem uma coisa — observou Freeman. — Não dá pra manter um segredo por muito tempo.
— Também aprendi isso — concordou Starlene. Ela bateu a porta, dobrou a chave para um lado e para o outro até quebrar na fechadura e colocou o chaveiro no bolso. — Espero que o babaca fique trancado lá. E agora?
— Precisamos da Vicky — respondeu Freeman. — Ela é inteligente e conhece bastante de Wendover.
— E as outras crianças?
Freeman olhou para ela com olhos penetrantes. — Você já devia saber disso: não dá pra salvar o mundo todo assim, tem que ser um pouco de cada vez. Até o nosso amigão J. C. dos Santos sabia dessa.
Starlene ignorou o sarcasmo dessa vez. — Pro Salão Verde?
— Ela não tá no Salão Verde. Ela tá na Treze.
— Que ela está fazendo lá?
— Morrendo — respondeu ele. — É o que todos estamos fazendo. Alguns mais rápido, outros nem tanto.
Enquanto passavam pelo corredor, Starlene imaginou se Freeman, ao ler a mente dela, captaria o grau de horror que ela sentia naquele momento.
CAPÍTULO 39
Ele deveria saber.
Se tivesse jogado o jogo e se tivesse guardado seus pensamentos para si, isso nunca teria acontecido. Ele deveria ter feito o misantropo, o tipo Clint Eastwood, ou o cara obstinado que nada contra a corrente, como Al Pacino em Serpico. Claro, ele era especial e conseguia ler a mente das pessoas e era só uma questão de tempo até que a Fundação acabasse com ele. Naquele momento, no entanto, ele cruzara a linha, despontando como outro infeliz defensor dos fracos e oprimidos.
Era disso que o mundo precisava: mais um ridículo herói obscuro.
Freeman correu ao lado de Starlene, fazendo seu triptrap para ver se alguns dos capangas da Fundação fora avisado por Randy. Muitos deles, porém, tinham suas barreiras. Quando funcionava, sua PES era tão confiável quanto um radar ou um sonar, mas ele nunca tinha certeza sobre os pensamentos que estavam por lá que ele não interceptava. Quando ele estava num ciclo de mania, o dom era uma joia. Quando não, os pelos da nuca eram como antenas, a pele era vivificada pela força que irradiava do porão.
Ele leria facilmente os pensamentos de Starlene, mas ela passara pelo tratamento e estava suscetível, de miolo mole. O de Vicky era mais mole ainda porque ela passara por muitos tratamentos. O mais absurdo era que o tratamento provocava reações diferentes nas pessoas e, em algumas, nada parecia acontecer. Talvez fosse um talento natural, um terceiro olho ou um sexto sentido ou outra bobagem do gênero. Talvez Freeman fosse capaz de fazê-lo em qualquer caso, mesmo sem os anos de experiências do pai.
De qualquer forma, ele desejou que Deus lhe tomasse de volta esse dom, que nada mais fora que um transtorno desde o começo. Deus, porém, estava escondido nos recônditos celestiais onde só pessoas como Starlene conseguiriam acreditar n’Ele. Sempre que Freeman tentava ler a mente de Deus, por mais que tentasse, nunca conseguia uma resposta. Deus, se é que existia, provavelmente tinha o bloqueio mais poderoso do universo.
Além do mais, se Deus conseguisse ler a mente de todo mundo ao mesmo tempo, Ele provavelmente ficaria maluco lá na época de Adão e Eva.
E o lance da fase maníaca, uma coisa que ele só conseguiu perceber recentemente, era que os pensamentos dele vagavam por conceitos idiotas como Deus, o amor, outras pessoas, o medo de nunca mais conseguir dormir e preocupações totalmente imbecis mesmo quando nos momentos em que ele deveria se concentrar em coisas mais importantes.
Sobreviver, por exemplo.
Freeman apertou a mão de Starlene enquanto eles diminuíam o passo. Ela fez um movimento desnecessário pedindo silêncio com o dedo indicador em riste contra os lábios. A Treze era logo depois da interseção e o laboratório do Kracowski ficava duas portas à frente dela. Se Vicky estava passando por uma TSS, com certeza a Fundação colocou um guarda por perto. Freeman esperou um walkie-talkie começar a dar sinal com a voz de Randy a qualquer momento.
— Ela está lá? — perguntou Starlene só com movimentos labiais.
Ele fechou os olhos e se concentrou. Ele ouvira Vicky claramente enquanto estava trancado no Salão Azul, o triptrap aconteceu num espaço grande entre eles, mas foi como se fosse uma ligação de celular a curta distância. No momento, ele não conseguiu captar nada. Isso podia significar que ela ou foi blindada de alguma forma, ou estava inconsciente e não conseguia transmitir os pensamentos.
Ou então que estava morta.
Freeman foi surpreendido por uma imagem súbita da Vicky deitada, pálida e sem respirar na maca da Treze, com as contenções apertadas enquanto ela ficava sem cor. Ele desfez a imagem de seu pensamento e tentou se concentrar mais fortemente.
Nada.
Ele balançou a cabeça para Starlene. Ele não conseguia ler nem os pensamentos de Starlene naquele momento. Alguma coisa estava acontecendo. Talvez o titereiro-mor tivesse alterado os ritmos das ondas experimentais. Talvez o pai tivesse aparecido com uma geringonça nova que deixou a frigideira de cérebros do Kracowski no chinelo. Talvez a fase maníaca de Freeman tivesse passado e, nesse caso, ele não poderia contar com a técnica de sobrevivência número um quando mais precisava dela.
Starlene se ajoelhou e deu uma espiadela pela quina com Freeman segurando-a pelo ombro caso ele precisasse puxá-la e desviá-la de uma bala ou algo assim.
Ele se repreendeu em silêncio. Lá estava ele de novo, o defensor dos fracos e oprimidos. Pelo jeito, já tinha virado um mau hábito.
Ela virou para trás e sussurrou: — Ninguém.
Freeman deu uma olhada também. O corredor estava vazio e silencioso.
Exceto...
Freeman sussurrou: — Achei que você tinha dito “ninguém”.
— Eu disse.
— E o esquisito de camisolão?
Starlene olhou de novo. — Que esquisito?
— Opa...
O velho estava parado no corredor bem visível. Era o homem do lago, curvado, cinza, enrugado. Ele se moveu em direção a eles silenciosamente, com os olhos fixos para além deles como se um buraco para o céu tivesse se aberto na parede oposta. Freeman lutou contra o instinto de alcançar o homem enquanto ele passava, com o camisolão e a pele reluzindo tênues como limalha de prata. O homem desapareceu na parede sem deixar vestígio no reboco falhado.
— Você não viu mesmo? — perguntou Freeman.
— Quem?
— Deixa pra lá.
— E aí? Vamos abrir a porta?
— Bom, considerando que temos um minuto no máximo para dar o fora antes que Randy conte pra todo mundo...
— Você quer resgatar a Vicky porque sempre pensa nos outros — observou Starlene.
— Não precisa ser cruel só porque é psicóloga.
— Desculpe. Mas você vai ter que confiar em mim pra gente sair dessa enrascada.
— Confiar. Essa é boa.
— E então?
— Claro. É só não tentar me “compreender” ou me “curar” ou tentar me “preencher de amor”.
— Fechado.
— Vamos lá então.
Dobraram na interseção e foram pé ante pé até a Treze. — Droga — disse Freeman. — Me esqueci que eles sempre põem essas fechaduras eletrônicas.
— Por que não tenta ler a mente de alguém enquanto eles apertam os números?
— Olha, experimenta ficar lá levando choque até o cérebro fritar e enfrentar essa odisseia pela terra dos mortos pra ver o quanto você é prática.
Starlene empalideceu como se relembrasse das visões do tratamento pelo qual passou. — Tá, eu entendi.
— Que é que a gente faz?
— Batemos na porta?
Freeman deu de ombros e bateu na porta grossa. Uma série de bipes e luzes piscaram na fechadura eletrônica e a maçaneta virou. A porta se abriu.
Freeman ficou cara a cara com a última pessoa que esperava ver de novo.
Se bem que não dava para dizer que aquilo era uma cara.
Era vermelha, estava em carne viva, exatamente como ele se lembrava, só que pior.
Ele tentou gritar, mas para isso é preciso de ar nos pulmões, que estavam sólidos como aço, a garganta estava cimentada, a cabeça dele sentia como que oitenta e oito martelinhos invisíveis e ele queria cair, mas as pernas nunca conseguiriam a flexibilidade necessária.
Ele só conseguia ficar lá, parado, olhando, desejando não estar ali.
O ser diante dele esticou retalhos que outrora provavelmente eram braços.
Um abraço.
Exatamente como a mãe costumava fazer antes de Freeman retalhá-la com uma lâmina de metal, antes que o pai desmantelasse seu cérebro e o transformasse num matricida.
De repente ele voltou a ter seis anos de idade e pelo menos na memória conseguia chorar, ao contrário de como estava ali, porque abrira a porta do banheiro e os olhos da mão estavam fechados e seu corpo nu ocultado pelas bolhas — de molho, como ela dizia, porque era o único momento em que ela não tinha de atender o telefone nem obedecer às ordens do marido.
Em sua memória, a faca era fria ao toque e a voz do pai estava na sua cabeça, tão forte que não havia espaço para os próprios pensamentos, o que o deixou feliz de alguma forma, porque isso significava que ele não podia evitar e não era culpa sua.
Mas é claro que é culpa sua.
Freeman tentou piscar, mas as pálpebras estavam escancaradas e secas e a lembrança se foi. As palavras vieram do ser diante dele, o ser que ele um dia amou mais que qualquer coisa no mundo, na época em que o amor, a confiança e a esperança não eram meras palavras inúteis de papo de psicólogo.
Uma bocarra se abriu no meio do rosto mutilado. Ela estava tentando falar. Ai, Deus, ela estava tentando falar, só que não precisava de língua para dizer o que precisava ser dito. Quem precisa de voz quando se pode fazer triptrap direto na fonte, entrar lá com as mentiras e trapaças e enganos e, bem lá no meinho, encontrar aquela esperança secreta que Freeman protege com cuidado, uma noz que nenhum psicólogo conseguiu quebrar, que nenhum triptrap jamais vislumbrou, que até o próprio Freeman evita sondar?
Uma esperança de falsa inocência.
Uma crença sincera e inabalável numa mentira.
Uma fé numa traição total e absoluta.
Seu próprio lobo particular sob a ponte.
Ele sempre dissera para si mesmo que, mesmo se o pior dos pesadelos surgisse em suas feridas rubras a cada vez que ele fechasse os olhos, isso nunca aconteceu, isso foi só uma maneira de os jornais noticiarem, que o pai era o verdadeiro assassino.
Ele, o pai, e não Freeman. Porque Freeman amava a mãe, não importava quantos jogos mentais o pai o obrigasse a jogar, não importava quantos tratamentos de choque Freeman enfrentara, não importa quantos labirintos mentais o velho desgraçado o fizera percorrer. Porque quem ama não maltrata.
Quem ama, cuida.
Não se...
O ser diante dele não parecia estar numa atitude de perdão, porque a bocarra se abriu e se fechou com um suspiro úmido de contentamento, os braços chegaram mais perto e Freeman estava congelado por um calafrio de dez mil túmulos.
As palavras estavam no seu cérebro, aquela mesma voz que costumava cantar rimas de ninar e contar histórias para dormir.
Não se tem uma segunda chance.
E a paralisia cedeu e as lágrimas corriam dos seus olhos, ele queria dizer que sentia muito, mas que adiantaria uma palavra inútil quando não era possível uma segunda chance?
Esse era um dos lemas de mamãe: faça certo da primeira vez, evite sofrer de arrependimento a qualquer custo, ame de todo o coração porque NÃO SE TEM UMA SEGUNDA CHANCE.
E ele conseguiu respirar de novo, estava prestes a gritar de verdade, estava tremendo tanto que seus ossos acordariam os mortos e a lembrança do sangue quente contra a lâmina prateada cortou aquele esconderijozinho na cabeça dele, e ele sabia que era culpado.
E que ela nunca o perdoaria, mesmo se vivesse um bilhão de eternidades.
Antes que ele conseguisse gritar, Starlene lhe tapou a boca com a mão. Ele silvou contra a palma da mão dela e se contorceu tentando se livrar. Foi quando Bondurant falou.
— Eu lhe disse que ele era perturbado — disse Bondurant. — Que Deus tenha piedade de sua alma.
Os olhos de Freeman se arregalaram. A coisa-mãe desapareceu.
Ou sequer esteve ali.
Essa era a zona morta e Freeman não conseguia mais dizer quem estava vivo e quem estava morto, se é que isso fazia alguma diferença. A mãe não tinha morrido na zona morta.
Talvez a gente carregue os mortos dentro da gente para sempre.
Bondurant ficou no lugar do pesadelo, lambendo os lábios e piscando os olhos atrás dos óculos embaçados. O paletó estava amarrotado e o nó da gravata, frouxo. Por mais assustador e feio que fosse Bondurant, Freeman estava feliz em vê-lo. Tudo, menos a mãe.
— Sr. Bondurant — disse Starlene empurrando Freeman para dentro e fechando a porta atrás de si. — Que é que o senhor faz aqui?
— Eu tenho as chaves, não se lembra?
— Nós, ahm...
— Poupe suas palavras — cortou Bondurant. — Não vê que suas ideias liberais estão estampadas no seu rosto em letras garrafais? Salvem as crianças. Sacrifício. Fazer o bem e nunca o mal.
Freeman deu de ombros. Era exatamente o tipo de filosofia que a mãe teria se ela fosse assistente social em vez de advogada, se não tivesse caído no controle do pai, se estivesse viva em vez de assassinada.
— Bom, nós temos um trabalho a fazer — disse Starlene. — Se o senhor está com o Kracowski e o McDonald, sinto dizer-lhe que vamos ter de fazer algum mal ao senhor.
Bondurant balançou a cabeça. — Nossa querida Starlene. Eu poderia ter colocado esse seu fogo a nosso serviço. — Ele olhou para o fundo do corredor em direção à sua sala. — Mas, veja bem, sou um homem mudado e os servos de Deus não têm muita escolha quanto as missões para as quais são escolhidos.
— Ah, essa não — disse Starlene. — Não me diga que o senhor teve outra visão. Bom, espero que seja a de uma carruagem no céu, porque é o único meio de sair deste lugar. Ou o senhor não notou os guardas armados e o arame farpado?
— Deus está nos testando.
— Eu sei de uma coisa: Deus dá o frio conforme o cobertor.
— Cadê a Vicky? — cortou Freeman. — Eu sei que ela estava aqui porque eu consegui ver o pensamento dela.
Bondurant olhou para Freeman. — Ela estava aqui. Um dos guardas a levou embora.
— Não disseram para onde?
Bondurant inclinou a cabeça para trás como se o fantasma de Michelangelo tivesse pintado um afresco no teto. Ele soltou uma gargalhada mais alta do que o espaço comportava.
— Para onde a levaram? — inquiriu Starlene.
— Aonde todos nós iremos uma hora ou outra — respondeu Bondurant entre risadas.
Starlene puxou Freeman de volta como se o diretor enlouquecido estivesse num estranho programa de quiz para TV em que a resposta errada significava morte instantânea. — Para o céu?
Bondurant revirou os olhos reptilianos em direção ao chão e parou de rir. Dessa vez a voz era uma imitação distorcida de Vincent Price. — Para o outro lugar — respondeu.
— O porão — concluiu Freeman. Ela escancarou a porta e eles saíram correndo pela passagem.
A voz melodramática de Bondurant rebombou atrás deles como um trovão de um filme B. — Vão pela escada. É o caminho mais curto para o inferno.
CAPÍTULO 40
A garota seria a primeira vítima.
Não, vítima não... paciente, lembrou Kracowski para si mesmo. Agora, porém, o Dr. Mills estava envolvido e não havia como pensar nela de outra forma. Vicky Barnwell passara do seu tratamento cuidadoso e gentil para as garras de um insano. Até nos momentos mais iludidos de Kracowski, ele nunca se esquecera completamente de que o bem-estar dos pacientes tinha importância, mesmo que secundária. O sistema dele fora projetado para curá-los tanto quanto para pesquisar as funções cerebrais.
Mills não mostrava essa preocupação. Mills queria levar tudo até os limites, mesmo que isso beirasse o bizarro e o sinistro. Mills mostrava estar feliz demais por colocar a assustada garota numa cela. Ela não falou desde que o guarda a escoltou até o corredor escuro. Ela só olhou o rosto de cada um, parou por um tempo mais longo no rosto de Kracowski e não impôs resistência quando Mills a pegou pelo braço e a levou para dentro.
Mills fechou a porta e a trancou deslizando o ferrolho. McDonald esperou que o guarda saísse e disse para Mills: — Vamos começar a brincadeira.
Mills foi até a placa de circuitos e o computador de rede remota que ele instalou apressadamente. Dois grandes painéis curvos, com uma série de magnetos supercondutores, estavam logo acima da porta da cela.
— Vamos ver o que essa belezinha faz — disse Mills. Kracowski não sabia se “belezinha” se referia à máquina ou à garota.
— Veja bem, o senhor errou na aplicação direta da carga elétrica — disse Mills como se estivesse ensinando um aluno medíocre. — Se o senhor tivesse lido meu artigo sobre a magnetita no cérebro e o efeito que resultava das ondas eletromagnéticas desalinhadas...
— Eu li todo o seu trabalho — interrompeu Kracowski — e aprendi com os seus erros.
Mills parou enquanto inseria os comandos. Ele encostou o indicador na têmpora. — O senhor não leu o que eu levo aqui dentro. A menos que tenha aprendido a ler a mente, mas estou mais propenso a dizer que o senhor não se submeteu aos próprios tratamentos. Esta é a diferença entre nós, doutor. O senhor não mergulha de cabeça.
— Eu não preciso disso. Eu acredito no que faço.
Mills indagou: — A propósito, McDonald, o senhor por acaso está portando arma de fogo? Algum objeto metálico?
McDonald não respondeu.
— A força magnética chegará a cinco tesla, que é três vezes mais forte que um aparelho de ressonância normal de hospital. Já houve relatos de objetos metálicos voando pelo ar ao redor dos campos magnéticos. Às vezes é um balde, uma caneta tinteiro... Uma vez, uma arma de um policial foi arrancada do coldre e voou direto para o núcleo da bobina magnética. A arma disparou. Por sorte, nenhum tiro perfurou os tanques de contenção.
— Isso seria ruim? — perguntou McDonald.
— Bem, o nitrogênio líquido no tanque externo está a 195 graus abaixo de zero e, se você cair morto congelado, o oxigênio da sala ficará tão reduzido que você sufocaria. O hélio líquido no tanque interno está a somente alguns graus acima do zero absoluto.
— Então é frio, né?
— Você viraria uma escultura de gelo que provavelmente ia se espatifar com a mais leve corrente de ar.
— Eu nunca imaginei que ciência fosse divertida assim.
— É só ficar por aqui que você vai ver como é “divertida”.
McDonald colocou a mão no casaco e tirou uma pistola automática. — Glock .45. Três travas de segurança. Não vai disparar acidentalmente. Mas e a porta de metal?
— O campo não é forte o bastante para arrancar a porta das dobradiças.
McDonald olhou para Kracowski, que deu de ombros. Kracowski disse: — Eu nunca geraria um campo eletromagnético forte assim. Também sempre usei anteparos para limitar a exposição. Agora, porém, sou um mero e inocente espectador.
— Ninguém é inocente — corrigiu Mills. — Está na hora de conseguir uns resultados mais extremos.
McDonald colocou a arma de fogo numa cela a duas portas para dentro do corredor. — Grande parte dos componentes é de plástico. Aqui é longe o bastante?
— O magneto vai estar concentrado, não vai afetar tanto. Estou sendo dramático demais. A força real será direcionada à cobaia dentro da cela.
— O nome dela é Vicky Barnwell — disse Kracowski.
Mills abriu uma pasta. — Que engraçado. O senhor a chamou de “Paciente 7-AAC” nos seus registros. A pontuação de PES dela, no entanto, é risível. Vamos ver se eu consigo consertar isso.
— Tenho certeza de que o senhor se sairá melhor. Comparado ao senhor, sou só o cara que vem varrer o laboratório no final.
— Então observe e talvez aprenda alguma coisa; um dia o senhor também brincará de “gênio”.
Mills inseriu os comandos restantes e, em seguida, acionou os botões que ligavam a aparelhagem. Os tanques zuniram e Kracowski tentou visualizar o processo da eletricidade percorrendo os quilômetros de fios enrolados no magneto supercondutor, o hélio baixando a temperatura e reduzindo a resistência do fio. O consumo de energia da rede elétrica fazia com que a iluminação ficasse ainda mais fraca, até que a sala estivesse imersa em laranja e azul profundos. O zumbido da aparelhagem ficou mais intenso e McDonald se posicionou atrás do computador de Mills como se isso fosse lhe conferir alguma proteção caso os tanques explodissem.
Kracowski olhou em seu relógio de pulso. Os campos eletromagnéticos podiam prejudicar o funcionamento dos relógios, mas Mills fizera um bom trabalho no isolamento da direção do campo. Apesar de todas as falhas, ele era um físico brilhante.
Trinta segundos se passaram.
Kracowski esperava qualquer coisa: que Vicky gritasse, que Mills pulasse lá dentro ou que McDonald perguntasse o que estava acontecendo. Nenhuma teoria conseguiria prever o que aconteceria a seguir.
Vicky bateu com a parte de baixo do punho cerrado na porta da cela. Com uma voz calma, ela disse: — Ei, pessoal. Melhor virem aqui ver uma coisa. Tem alguém aqui dentro.
CAPÍTULO 41
Ouviram-se passos se aproximando da extremidade do corredor. Alguém estava com pressa, pensou Freeman.
Starlene e ele se espremeram na quina. O fosso da escada estava perto o bastante para que eles corressem direto para lá, mas estava trancada como a maioria das portas e eles teriam de experimentar o sortimento de chaves do Randy até descobrir a chave certa.
— Ei, Freeman, é você? — perguntou Isaac num sussurro alto.
Freeman estava prestes a responder, mas depois ponderou se Isaac poderia ter se tornado um joguete da Fundação. Coisas estranhas aconteceram. Não se podia confiar em alguém só por se tratar de uma criança.
— Eu vi acontecendo — disse o Fraldinha, fungando resfriado. — Quer dizer, eu vi o que vai acontecer. E não é nada bom.
Freeman espiou pela quina. Isaac e Fraldinha ficaram lá de calça de ginástica e camiseta. Os cachinhos de Isaac estavam ensopados e ambos estavam ofegantes por causa do esforço. Isaac cutucou o Fraldinha e disse: — Ele viu vocês se escondendo na quina perto da escada.
— Ah, então você lê a mente também? — perguntou Starlene ao Fraldinha.
— Tipo isso — Isaac respondeu por ele. — Ele viu isso há dez minutos. Foi o tempo que levou pra gente sair do ginásio e vir até aqui.
— As outras crianças estão lá?
— Isso. Menos a Vicky. Um grandão veio e levou ela. Um cara novo de uniforme. E ninguém sabe ainda onde o Deke foi parar.
— Que mais você viu? — perguntou Freeman ao Fraldinha, depois comentou com Starlene em tom explicativo: — Ele é clarividente, isso aí de gente que prevê o futuro, igual o Nostradamus e o Edgar Cayce, só que o Fraldinha não fica fazendo enigmas idiotas.
Starlene assentiu com a cabeça como se um talento assim só fosse natural num mundo em que a PES e os fantasmas andavam por aí como se fossem donos do lugar. Pelo menos ela parecia estar perdendo um pouco daquela tendência dos adultos de negar tudo que não se encaixa na sua visão de mundo bitolada. Freeman decidiu que talvez houvesse esperança para o caso dela.
— A gente pode confiar nela? — perguntou o Fraldinha. Isaac pousou a mão no ombro dele de forma encorajadora.
— Ela prometeu não ficar analisando a gente — disse Freeman. — Ela só quer ajudar. Do jeito certo, não do jeito que se sente melhor com ela mesma.
— Eu mesma não teria respondido tão bem — comentou Starlene. — Então, o que vai acontecer e que dá medo?
O Fraldinha olhou para o Freeman. — Fantasmas.
Isaac disse: — Vocês continuam falando de fantasma. Só vou acreditar depois que eu vir.
— Pode acreditar — afirmou Starlene. — De que fantasma específico você tá falando, Edmund?
— Edmund? — espantou-se Isaac, olhando para o Fraldinha. — Que nome legal. Parece até estrangeiro. Por que você não contou pra nós?
Ele deu de ombros. — Eu gosto mais de “Fraldinha” porque Edmund é como os meus pais me chamavam.
— Que fantasma você viu? — repetiu Starlene.
O Fraldinha apontou para o peito do Freeman. — O seu.
— Ótimo — disse Freeman. — Bom, talvez você tenha visto um tipo de futuro e deve ter um zilhão de futuros diferentes.
A tez morena de Isaac ficou um tom mais pálida. — Claro. Tipo abrir uma porta num videogame. Dependendo de que sala a gente entra, acontece uma coisa diferente.
— É melhor a gente entrar numa delas e rápido — apressou Starlene. Ela foi até o fosso da escada e começou a experimentar as chaves. — Eles estão atrás de nós.
— Cê tá com medo? — perguntou o Fraldinha a Freeman.
— De, tipo, morrer? Nem. Tem sempre uma coisa pior do que isso.
— Tipo o quê?
Freeman não queria se alongar no assunto. Por um lado, se ele morresse, se reencontraria com a mãe. Por outro lado, ele não planejava morrer. Até o Clint Eastwood conseguiu chegar aos créditos finais em noventa por cento dos filmes.
Exceto naqueles filmes em que Clint era o defensor dos fracos e oprimidos. Esse era praticamente um pré-requisito para um dos personagens morrer.
Ele olhou para o rosto de Starlene. Duas listras de lágrimas escorriam pelas bochechas.
Droga. Ela deve gostar de mim pelo menos um pouco.
— É pior viver esperando uma segunda chance — disse Freeman por fim. — É pior do que estar morto.
Starlene encontrou a chave certa e abriu a porta. Enxugou o nariz e se recompôs.
— É melhor vocês me esperarem aqui — disse Freeman.
— De jeito nenhum — protestou Isaac. — Eles vão nos pegar um por um se não fizermos nada.
— É mesmo — concordou o Fraldinha. — Eu vi um futuro em que este lugar estava vazio. Todas as crianças tinham ido embora. Menos as que estavam no porão.
— No porão?
— Isso, onde moram os fantasmas.
Freeman seguiu Starlene pela escada escura.
Isaac pegou Fraldinha pela mão e veio atrás deles. — É melhor a gente ficar junto. Talvez seja a única chance de eu ver um fantasma de verdade.
— Só espero que você não esteja olhando no espelho nessa hora — disse Freeman.
Eles começaram a descer. Uma luz de emergência meio fraca era filtrada pelas teias de aranha num amarelo pálido. O ar era grosso de poeira e de reboco velho. As paredes do fosso da escada eram de pedra e um arrepio úmido se instalava nos ossos de Freeman enquanto eles desciam. Eles se juntaram em frente à porta do porão e Starlene começou a experimentar as chaves.
— Qual é o plano? — perguntou Freeman num sussurro.
— Pegar a Vicky e sair fora — respondeu ela.
— Fora, pra onde?
— Vamos fazer a primeira parte, depois a gente resolve.
— Bom plano.
— Você consegue ler a mente da Vicky? Como é que você chama, fazer “triptrap” nela?
— Eu tô com outras coisas na cabeça. Tipo virar um fantasma.
— Tenta de novo — pediu Isaac.
Freeman se desligou do som de água pingando pelas paredes, esqueceu-se do medo da morte que picava a pele como ponta de faca, ignorou o coração acelerado como se tentasse sair a marretadas do peito, bloqueou todo pensamento que estivesse passando nas mentes de Starlene, Fraldinha e Isaac.
Ele projetou a mente num processo que ainda o assustava mesmo depois de tê-lo feito centenas de vezes. Triptrap, atravessando a ponte mental. Ele se concentrou no rosto de Vicky, nos lábios que lhe disseram palavras tão boas, nos lindos olhos que o fitaram daquele jeito...
Ele teve de voltar porque estava ficando distraído. Ele não poderia se arriscar a pensar nessas outras coisas piegas de beijinho-meu-amor. Clint Eastwood não tinha tempo para isso, exceto nos filmes piorezinhos; Freeman também não tinha.
Ele tentou o triptrap de novo, concentrando-se mais forte dessa vez. O ciclo dele estava rápido demais, indo da mania à depressão, dos altos para os baixos, do branco para o azul, como a luz no teto de um carro de polícia. Tinha algo esquisito acontecendo, os pulsos eletromagnéticos irregulares estavam bagunçando suas sinapses. Ele estava oscilando da mania à depressão tão rápido que as duas quase se fundiam num estado emocional totalmente novo e bizarro.
Você já fez isso antes.
Talvez seja só imaginação, mas é o tipo de pensamento obsessivo que vem quando você está deprimido, ou talvez você esteja na fase maníaca e pensa que é algum tipo de dom sagrado.
Talvez o objetivo desse dom seja proteger os inocentes.
Deixa de ser bobo. Ninguém é inocente e ninguém é digno dessa proteção. Será que é a depressão falando?
Você é inocente. Você não a matou.
Se tiver força de vontade, você consegue fazer o mundo parar. Você consegue expandir a sua mente. Você é maior que Deus.
Esqueça-se de tudo e CONCENTRE-SE. É para salvar a Vicky e não você. Pelo menos uma vez na sua vida triste, NÃO É VOCÊ QUE ESTÁ EM JOGO.
E ele conseguiu se projetar, fez contato com ela enquanto ela estava tentando o contato com ele, e durante lindos e terríveis momentos eles estavam conectados, as palavras de um e de outro se acumulavam e transbordavam como dois copos d’água enchendo um terceiro, os pensamentos circulando e dançando e agregando significados além das palavras.
Em seguida, Freeman viu o que Vicky estava vendo e desejou que esse dom permanecesse nas mãos de Deus ou de Satanás ou do pai ou de qualquer desgraçado que cruelmente lhe dera.
Porque Vicky estava na zona morta pra valer.
CAPÍTULO 42
— O lance é ir direto à fonte — disse Kenneth Mills. Sua voz ganhava volume à medida que a potência dos supercondutores aumentava. Kracowski olhou para as caixas de fusíveis feitas sob medida enfileiradas na parede atrás dos tanques. Ele não sabia o que aconteceria se desse um curto-circuito geral durante a operação, mas era preferível que isso acontecesse que observar os resultados das brincadeiras mentais do Mills.
A menina bateu na porta de novo. — É melhor virem aqui ver.
McDonald se aproximou da porta, hesitante, depois perguntou a Mills: — Vamos abrir?
Mills deu uma gargalhada que lembrava mais um palhaço sádico. — Claro, entra logo. Vamos ver o que o tratamento vai fazer com você.
Os olhos de Mills estavam fechados e ele se inclinou para trás afastando-se do teclado do computador como Capitão Nemo tocando uma melodia insana no órgão.
— Ah, estou vendo — disse Mills. — Eu sabia que conseguiria. Olhe, McDonald, você e sua Fundação pensaram que eu estava errado, ultrapassado e arruinado. Estavam prontos para me jogar para escanteio. Mas vocês precisam de mim. Eu sou o único que consegue fazer.
— Não me deixe no escuro — disse McDonald. — Kracowski fez quilos de anotações. Por que precisamos ficar adivinhando o que você faz?
— Porque Kracowski quer que outras pessoas reconheçam o gênio que ele é. Ele só quer as descobertas para sua própria glória.
Mills abriu os olhos como se estivesse terminando de rezar. Em seguida, alterou a programação. — Olhe, Kracowski, o senhor não precisa dar choque neles para matá-los. Mate-os e deixe o coração deles batendo. É assim que se penetra na mente dos mortos.
Kracowski administrara a morte em doses que duravam frações de segundos. Mills surgiu capaz de matar milhões sem hesitar. Depois do que ele fizera com a esposa e com o filho, Kracowski não se surpreenderia se o louco aniquilasse toda a raça humana só para provar que estava certo. Mills mataria até Deus se tivesse condições e oportunidade. Motivo ele já tinha.
— Dê uma olhada o senhor mesmo — pediu Mills. — É lindo. A morte é linda.
Kracowski olhou as leituras na tela do computador. A amplitude estava irregular, misturada num padrão de onda que ele nunca vira. Nem os físicos mais radicais, aqueles que vinculavam o eletromagnetismo com OVNIs, guerras mundiais, câncer no cérebro e vírus letais, tinham conectado diretamente a radiação silenciosa com o espírito humano. Mills estava forçando a experiência sem a menor ideia do resultado, jogando um jogo de adivinhação que poderia ser muito mais trágico que a fissão atômica.
Até as reações nucleares obedeciam às leis da natureza, mas Mills estava jogando num campo além da natureza.
Kracowski se amaldiçoou por não conseguir deixar de olhar. Ele estava tão curioso quanto Mills.
— Abra a porta — disse, ouvindo a própria voz.
McDonald colocou uma das mãos no cabo do ferrolho. Ele destravou o mecanismo e recuou assustado, como se estivesse esperando que as paredes saíssem do chão. Como nada surgiu, ele segurou a maçaneta da porta. Deteve-se alguns segundos, ajoelhou-se até a abertura da porta, empurrando o mecanismo enferrujado pelo qual a comida era jogada para o ocupante da cela.
A voz de Vicky saiu pela abertura, mais forte que antes: — Eles estão comendo a luz — disse ela com uma calma que deixava a situação mais assombrada.
Mills gargalhou. — As trevas têm um sabor muito melhor. Enche menos. Não faz você vomitar depois de comer.
McDonald perguntou: — Que merda está acontecendo lá?
Mills traçou um estranho padrão no ar com a ponta do dedo, pintando um Picasso invisível, ou talvez conduzindo uma peça orquestral frenética de Philip Glass, em comunhão com os seres vivos ou traçando as moléculas do paraíso.
— Desgraçado — disse McDonald para Mills. — Fala comigo, senão vou meter você naquele pinel de novo.
O agente acionou a alavanca da abertura para a comida e espiou dentro da cela. Kracowski duvidou que McDonald conseguisse ver alguma coisa por causa da escuridão. McDonald balançou a cabeça como se tentasse se livrar da visão, depois pressionou a cabeça contra a abertura. Ele deu um grito estridente e súbito de dor e rolava no chão, como se tivessem jogado ácido nos olhos dele.
McDonald se encolheu com os joelhos apertados contra o peito, murmurando sílabas ininteligíveis. Ele tremia com os olhos arregalados, olhando para Mills e Kracowski. Mills foi correndo para a mesa do computador, pegou o homem pelo casaco e o sacudiu. — Ajude-me a tirá-lo do campo magnético — pediu ele para Kracowski.
Kracowski olhou de relance a tela do computador, onde a imagem de ressonância do cérebro de Vicky piscava em roxo, verde e amarelo, as cores que apareciam quando se pressiona com os dedos as pálpebras contra os olhos. Uma câmera de infravermelho mostrava uma aurora em torno do corpo dela. Outras formas nubladas bruxuleavam contra a escuridão, nós de energia que não estavam conectadas à forma física da garota.
— O que você viu? — gritou Mills para McDonald projetando perdigotos no rosto confuso do homem.
— Nã... nã... nã... — grunhia ele repetidamente.
Mills empurrou McDonald no chão. Ele gritou para Kracowski: — Não toque em nada. Eu vou entrar.
Mills escancarou a porta da cela. Ele, porém, não entrou. Ele não conseguiu.
A cela sumiu.
Kracowski esqueceu o computador, o equipamento em sobretensão, o medo ardente no estômago, a sensação de desesperança de que tudo estava muito fora de controle, nada disso importava.
Face a um milagre, até o extraordinário era insignificante.
CAPÍTULO 43
Freeman e Vicky estavam juntos, conectados, até que o chão sumiu abaixo dos pés dela na cela. A escuridão da salinha abriu espaço para vultos distorcidos como se fossem um exército invasor no horizonte. Os rostos estavam lá, fundentes, com pares de olhos que já viram tanto horror na morte quanto em vida. Dedos esmaecidos em garra pelo ar, línguas e dentes rangiam em silenciosa angústia.
Fantasmas da loucura. Esses espíritos gritaram palavras entrecortadas pelas paredes da cela, impregnaram a pedra e metal e concreto do porão com sua dor, lançaram seus pensamentos insanos contra as cercas inexoráveis da realidade. Eram pacientes malditos, condenados a viver uma vida confusa nas estreitas salas do porão. Eles agora faziam parte indissolúvel dos regimentos dos mortos de Wendover.
Freeman não os podia culpar por estarem com raiva dos que perturbaram sua fuga silenciosa deste mundo cruel.
— Eles estão devorando a luz — disse Vicky.
— Eu sei — concordou Freeman. Ele sentia a vibração enquanto ela batia na porta da cela.
— Eles estão aqui por causa das máquinas do Kracowski. É aqui onde está toda a dor deles.
— Só que eles ainda estão perdidos. Escuta...
Do lado de fora da cela de Vicky, ouvia-se uma onda de metal se entrechocando. As portas das outras celas no porão se escancararam e se chocaram contra as paredes. Ou era a força magnética agindo sobre elas, ou eram os antigos ocupantes das salas em meio a uma fuga em massa.
Pensamentos loucos e desconexos passavam pela conexão aberta entre Vicky e ele, um triptrap com os espíritos congelados dentro da cabeça de Freeman como a gastura de comer sorvete muito gelado multiplicada por mil. Ele reconheceu algumas das vozes de sua jornada anterior dentro da zona morta, mas isso não aliviava o desconforto causado por tamanha insanidade. Ele tentou bloqueá-las, mas foi em vão:
Bilhetes na televisão, doutor.
Eu sou uma árvore e vou embora.
Louco que nem um percevejo.
Um espaço branquinho, branquinho pra escrever.
Freeman se concentrou de novo em Vicky enquanto os vultos se aproximavam. — Que é que eles querem? — disse ela telepaticamente dentro dele.
— Talvez eles estejam vindo porque não têm outro lugar onde ir. Talvez as celas daqui de baixo sejam o mais próximo de um lar pra eles. É horrível dizer isso, mas talvez eles sejam daqui.
— Não fica com medo, não.
— Não tô com medo — pensou Freeman.
— Olha, eu te disse, não dá pra mentir quando a gente lê a mente de alguém.
Os espíritos se aproximaram, saídos de um campo invisível, com olhos fulgurantes, bocas ofegantes por um ar que não conseguiam respirar. Freeman pensou em romper a ponte e se afastar de Vicky para calar aquelas vozes de tantos loucos mortos. Depois ele se sentiu envergonhado de seu egoísmo e se conectou com ela novamente com toda sua força de concentração.
Os espíritos estavam tão perto que o frio de suas almas envolviam Vicky, com seus corpos imponderáveis emanando uma fraca luz efervescente. A treva infinita em torno e atrás deles ficava ainda mais escura, como se drenasse a energia dos fótons que preenchiam o porão.
— Eles não sabem de quem é a culpa — pensou Freeman. Ele sentiu uma mão sobre o ombro. Temendo ser de um dos fantasmas insanos, ele se virou. Isaac estava atrás dele, com Starlene e Fraldinha, no mundo real, com paredes sólidas, e não na zona morta — tão real quanto, mas menos sólida. Ele se agachou, fechou os olhos e encontrou Vicky de novo.
— Aonde você estava? — perguntou ela.
— Aqui perto. Que esquisito.
— Clint Eastwood em O estranho sem nome, né?
— Pode ser.
Ela bateu na porta de novo. Freeman ouviu som abafado das palavras bombásticas do pai no outro lado da porta que, de repente, se partiu como que por efeito de um raio de luz entrando na cela. O rosto do pai apareceu com aquele sorriso maligno, olhos brilhantes e úmidos.
— Vicky, este é o meu pai — disse Freeman em triptrap.
Freeman sentiu escapar alguns dos sentimentos tão bem escondidos, ouviu Vicky se assustar enquanto vislumbrava as torturas que o pai lhe impunha, os dias de escuridão trancado no armário, os testes de PES, as experiências de lavagem cerebral, as agulhas e tenazes e tratamentos de choque, o infame incidente com o maçarico e...
Por sorte, Freeman se fechou antes que ela adentrasse os salões de sua memória com ele, de lâmina em punho, indo ver a mãe na banheira.
As mãos vaporosas alcançaram Vicky e passaram por ela. Freeman sentiu o contato em própria pele e percebeu que era Starlene, empurrando-o para o portão até as escadas do fosso. Ela o puxou de novo e Freeman perdeu o contato com Vicky.
— Que está acontecendo? — perguntou ela enquanto Freeman se sacudia em reconexão com o mundo físico. Fraldinha e Isaac olharam para ele como se ele estivesse voltando de Marte, esperando que ele contasse aventuras com homenzinhos verdes do espaço.
— A Vicky — respondeu Freeman. — Ela está em apuros.
De lá eles conseguiam ouvir o pai de Freeman na outra ponta do porão, rindo como se o mundo fosse acabar. Freeman tentou um triptrap com Vicky, mas algo tinha mudado. Kracowski ou o pai dele tinha bagunçado o campo magnético de novo, ou então Vicky tinha ido embora.
Ele se lembrou do toque gélido da mão do espectro passando pela carne dela e a imaginou esmagando o coração dela. Será que isso significava que ele estava pra baixo, deprimido, fora da casinha? Ele não tinha tempo para isso.
— Vamos — gritou ele para os outros e zuniu para a penumbra do corredor. O brilho da aparelhagem o guiou e ele tentou se lembrar da disposição do porão usando a memória de Vicky. O pai obviamente tinha mudado um pouco as coisas de lugar depois que tomou o controle e deu outro rumo ao tratamento de Kracowski.
Os outros o seguiram. Ele tentou fazer a cara do Clint Eastwood, torcendo um pouco a boca apertando um dos olhos, mas se sentiu estúpido. Robert de Niro em Os bons companheiros ou Al Pacino em O pagamento final não funcionaram. Nem Jack Nicholson em O destino bate à sua porta funcionaria nessa situação. Não era hora de bancar o anti-herói. Além do mais, os heróis não têm medo.
Ele dobrou o corredor no momento em que o pai abria a porta da cela. Uma luz fraca vazava da sala em que Vicky estava presa, os resultados da solução experimental de Kracowski e do pai agora estavam fora da garrafa, fora da lâmpada mágica do gênio, fora da caixa de Pandora.
As almas torturadas dos insanos saíam da porta para o mundo real — um mundo que elas nunca compreenderam, que as eletrocutou e amarrou e acorrentou, um mundo que as culpou, as aprisionou e as esqueceu. Dessa vez, elas tinham alguém a quem culpar por sua dor.
Elas se aglomeravam sobre o pai, mais de dez mãos o agarravam, tocavam, investigavam, tentando depreender esse invasor encarnado em sua terra perdida. Elas se alinhavam com os campos eletromagnéticos do porão, arrastadas até as máquinas, começando pelos painéis curvos, os tanques, fios e circuitos como se fossem aparatos de um novo teste de avaliação psicológica.
O pai tentava agarrar os fantasmas, Rorschachs brancos, testando sua solidez e, claro, fazendo observações sobre essa nova espécie. Era uma espécie cuja descoberta ele adoraria reivindicar. Freeman sabia que a agonia estampada nos rostos dos mortos não tinha nenhum efeito sobre o pai. O sofrimento alheio nada significava para ele. A dor era um meio para atingir um objetivo: almas lamentáveis arrancadas de seu descanso eterno nada mais seria que o preço do conhecimento.
Não o conhecimento humano: o conhecimento dele.
O pai tinha de conhecer todas as coisas no mundo, ele tinha de saber por que as pessoas viviam e por que se feriam e por que sonhavam e do que as despertava curiosidade e o que as fazia quebrar. Freeman sabia disso muito bem. O pai o quebrou por completo.
Uma raiva imensa tomou conta dele enquanto ele passava pelo corredor. O equipamento sacudia e fazia um ruído horrível e a voz do pai sobressaía sobre o caos eletrônico. O pai estava falando com os espectros, subjugava-os, acuava-os. Até os mortos estavam à mercê do seu desprezo.
— Podem vir, bando de mortos do inferno — gritava ele. — Era para vocês me odiarem. Sabem por quê? Porque quem trouxe vocês de volta fui eu. aHAHahHAah.
Freeman se arrastou para trás de uma fileira de cilindros de metal e ficou observando, pensando no que fazer. Starlene foi atrás dele e Fraldinha e Isaac ficaram logo atrás, os três ofegantes.
— Não olhem para ele — gritou o pai enquanto os fantasmas iam até Kracowski. — Fui eu quem fez todo o trabalho. A ideia foi minha. Vocês pertencem a mim.
Kracowski se espremeu contra a parede com o rosto pálido e inexpressivo e as mãos nos bolsos do jaleco.
O pai golpeava o ar como um dublê de filme de kung fu. Os braços dele passavam pelos espectros e o éter que os formava mal se distorcia com os movimentos.
— Que droga, Kracowski — disse o pai. — Agora o campo finalmente está a todo gás. Pense, se conseguirmos fazer um campo maior, vamos encher o mundo inteiro de fantasmas.
Kracowski mal conseguia dar força às palavras: — Que foi que nós fizemos? Meu Deus, que estamos fazendo?
Mills, rindo, escancarou a boca para um espectro próximo, um vulto eriçado que respondeu com um movimento, uma ação de desenhar. Freeman supôs que fosse ele o escritor, o que falava sempre a mesma frase: “Um espaço branquinho, branquinho pra escrever”. Ao lado do escritor estava uma velha com uma grande cicatriz iridescente na testa.
— Os mortos e os vivos, andando lado a lado — disse o pai ao atordoado Kracowski. — Quem sabe aonde isso pode chegar? O que você, McDonald? Acha que sua sociedadezinha secreta vai achar um jeito de conquistar o mundo usando essas coisas?
McDonald nada respondeu. As pupilas dele estavam uma maior que a outra e um fio de baba escorria do canto da boca. Ele se arrastava com a barriga como se tivesse perdido o controle das pernas — e da mente.
— O Efeito Mills — disse o pai, voltando sua atenção de volta a Kracowski. — Que é que você acha? Bom, hein?
O pai estapeou o fantasma da velha — curvada, enrugada, esfarrapada — com o rosto translúcido estampado de um olhar sarcástico e desconfiado. — Que é que você acha, vadia? O efeito Mills. Gosta de ser um subproduto da minha genialidade extraordinária?
Starlene, curvando-se sobre o ombro de Freeman, sussurrou: — Ele passou de todos os limites.
— Ele já nasceu no limite — retrucou Freeman. — O problema é que ele quer arrastar todo mundo com ele.
— Como a gente vai pegar a Vicky? — perguntou Isaac.
— McDonald está na lona e não tem nenhum guarda aqui. Acho que o McDonald não queria nenhuma testemunha.
— Vamos lá então? — perguntou Starlene.
— Que você acha, Fraldinha? Está tendo alguma visão do futuro?
— São quatro — respondeu Fraldinha.
— Quatro. Escolhas, escolhas. Algum deles tem final feliz?
No silêncio, eles ouviram o pai de Freeman gritando com os fantasmas.
— Que você acha, Fraldinha? — perguntou Freeman.
— Acho melhor irmos embora. Não vejo o futuro se a gente sair, mas deve ser melhor do que eu consigo ver.
Freeman observou um vulto aparecer na parede do porão além do metal brilhante dos tanques de contenção. O espectro bruxuleou como uma lanterna mágica, compôs um corpo nebuloso e ficou vigiando Kracowski e o pai e a aparelhagem e os outros fantasmas.
Em seguida, a mulher milagrosa chegou de seu mundo frio e distante, traspassando as pedras em que ela dormia, passando para a realidade turva e inquieta de que Freeman nunca duvidara tanto.
Naquele momento, Freeman compreendeu que o mundo real nada mais era que pesadelos coletivos dos mortos adormecidos.
CAPÍTULO 44
Francis Bondurant se sentou na maca da Treze, olhando para o próprio reflexo no espelho bidirecional.
Que é que essas crianças viam deitadas aqui, golpeadas pelos campos proibidos do Kracowski? Será que elas ficavam cara a cara com o próprio demônio? Pelo modo com que sacudiam e guinchavam e gemiam, Bondurant não duvidava. Afinal, os pecadorezinhos perturbados mereciam esse tipo de punição.
Ele remexeu nas tiras de contenção e nas fivelas metálicas. Em seguida, pegou os fios com ventosas e eletrodos que Randy e Paula aplicavam na cabeça das crianças. A tortura de Kracowski era complexa, as ferramentas de salvação por imposição cheias de símbolos arcanos e máquinas e ondas invisíveis. A ciência não era o reino de Satanás? A cobiça pelo conhecimento não foi a causa da primeira mordida do fruto proibido no Éden?
Bondurant olhou a própria imagem de novo, para o homem que retribuía o olhar.
Era um homem de bem, um verdadeiro servo de Deus. Se o frasco dele não estivesse vazio, Bondurant teria torrado o homem. O mundo precisava de mais pessoas como ele: justas, austeras e caridosas, mas se Deus assim o desejasse, ele saberia soprar uma destruidora trombeta de Josué.
Enquanto observava, o rosto se alterou, a imagem ondulou no reflexo como se o espelho estivesse sob o movimento da água. Os olhos que retribuíam o olhar se tornaram escuros e ocos, as magras bochechas incharam em protuberâncias cinzentas e enrugadas. Por fim, a transição da imagem cessou e Bondurant se viu como o velho do lago, aquela criatura macilenta e desgastada que há muito deixou para trás sua vida em carne e osso.
Os lábios do homem se moveram e, embora não produzissem som, Bondurant ouviu suas palavras.
— Instrumento do demônio? Um pouco melodramático, não acha, Francis?
Bondurant começou a falar; em seguida, percebeu que não precisaria, pelo menos não em voz alta. O homem sabia o que ele estava prestes a falar antes que o pensamento chegasse à boca de Bondurant. — Como você sabe meu nome?
— Sua sala era a minha sala.
— Vo-você é daqui.
A risada silenciosa do homem arrepiou a testa de Bondurant. — Eu sou daqui, sim, mais do que você, Francis. Eu estava em Wendover antes de Wendover. Eu era chefe da guarda.
— Eu vi você. Você se afogou no lago.
— Não dá para se afogar quando se está morto.
O peito de Bondurant gelou. — Você é... Satanás?
— Não exatamente. — De novo ele deu uma risada inaudível, um som suave mais de tristeza que de alegria. — Alguns pacientes achavam que eu era. Outros, no entanto, achavam que eu era Deus.
— O Pai nosso que está no Céu.
— Sim, venha a nós o vosso reino etc. Bom, Francis, vou te falar: é tudo um poço de merda.
Bondurant balançou a cabeça.
Os lampejos nas feições do homem diminuíram um pouco, depois se uniram mais solidamente sobre a superfície do espelho. — Se Deus existisse, eu O teria olhado nos olhos quando morri; tem uma coisa que sempre quis perguntar para Ele. Aposto que você já pensou nisso. Sabe o que é?
— Não — pensou Bondurant olhando para o chão. Ele não conseguia enfrentar a inexistência negra dos olhos do homem.
— Eu queria perguntar: “Por que as pessoas inocentes sofrem tantos infortúnios?”.
Bondurant pensou nas crianças sob seus cuidados, as molestadas, as órfãs, as deficientes, as impenitentes. Ele fizera com que as crianças falassem sobre seus problemas, se submetessem à terapia de grupo e ao aconselhamento individual, deixassem falar de suas preocupações em salas confidenciais. Em vez disso, os infelizes pecadorezinhos deveriam ter cuspido as entranhas ajoelhados na capela de Wendover. Só eles e Deus, de coração para coração. Os perversos queimariam e os que vissem a luz seriam salvos. Era assim que acontecia na terra de Deus e o resto era fumaça.
A imagem do velho brilhou de novo, aglutinou-se da superfície do espelho e se refez. Ele estava com seu camisolão sujo e descalço como um monge errante. Um mendigo. Ou será que esse homem foi enviado pelo próprio Deus para passar uma mensagem para Bondurant?
A sala estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do maquinário sob o piso. Kracowski estava brincando no porão — ele, McDonald e o recém-chegado, o Dr. Mills. Wendover fora entregue às forças malignas. A única esperança de Bondurant era a sua salvação. Todo o resto estava perdido.
O velho se deslocou até Bondurant sem fazer barulho com os pés. Em cada passo, ele se tornava mais sólido, até o ponto em que Bondurant conseguia sentir o cheiro do camisolão sujo e o hálito da boca desdentada. Ele impôs uma das geladas mãos sobre o peito de Bondurant e gentilmente o empurrou de volta para a maca.
— Descanse, Sr. Bondurant.
Bondurant quis lutar, pular da maca e sair correndo e gritando da sala, mas a mão do velho insistia. Seria aquela a mão de Deus? Bondurant ficou tonto e fraco, confuso. Se pelo menos ele tivesse uma garrafa.
— Eu quero ajudar você — disse o homem erguendo uma das tiras de contenção. — Você tem um problema.
Bondurant deitou lá desamparado enquanto o homem afivelava as tiras nas pernas e no tórax de Bondurant. Os pulsos e tornozelos estavam presos com tiras acolchoadas. O velho aplicou o gel azulado nos eletrodos e os prendeu na cabeça de Bondurant.
— Vai doer? — perguntou Bondurant.
— O sofrimento é o caminho para a cura — disse o velho de olhos como sementes negras sob as sobrancelhas grossas.
— Quem é você? — Bondurant perguntou incerto se queria ou não saber a resposta. Ele estava à beira de algo importante, uma conexão entre ele e o passado de Wendover — ou talvez só estivesse ficando sóbrio. Uma inquietude tomou conta dele, o gel começou a lhe pinicar a pele.
O velho se ajoelhou tão perto do rosto de Bondurant que as palavras sopravam como brisa no rosto dele. — Eu sou o médico. Eu curo as pessoas.
Ele deu um sorriso sarcástico que lembrava muito uma bandeja de bisturis. Em seguida, ele se virou e flutuou até o espelho. Chegou à superfície, reluziu, se fundiu ao vidro e desapareceu. O microfone do teto começou a sibilar. — Eu prefiro as técnicas tradicionais — disse o velho — mas acho que é preciso se adaptar às mudanças.
Um calafrio começou a formigar na pele de Bondurant. As paredes começaram a emitir um zumbido suave e sinistro, como se um ninho de seres alados tivesse sido importunado. A maca vibrava ligeiramente e Bondurant fechou os punhos. O primeiro choque fincou em seu crânio e ele mordeu a língua, produzindo um gosto de sangue.
Junto com essa onda de eletricidade vieram pensamentos esparsos, lampejos de pesadelos. Bondurant imediatamente soube que as visões eram vivências do velho.
Uma agulha entrando no braço frágil de uma mulher, dosando sua energia com insulina para induzi-la ao coma.
Mais eletrochoque, uma linha de montagem de pacientes assustados vestidos de branco, saindo da sala de tratamento como ovelhas babando.
Uma cena do porão, o interior de uma cela, assistentes do hospital carregando o cadáver de uma mulher sem olhos, com sangue nas órbitas.
Um picador de gelo sendo enfiado pela narina e girado dentro da curva superior do crânio, rompendo o lobo frontal.
Outra operação, dessa vez uma trepanação para remover o lobo pela testa.
Bondurant implorou clemência, mas o médico morto só fez aumentar a intensidade do eletromagnetismo. Em seguida, o campo de força irradiou das paredes e os lançaram na escuridão.
A voz do velho o seguiu. — Está vendo? O trabalho de um médico não termina nunca. Nem a morte consegue dar alento a essas mentes atormentadas.
Bondurant não estava escutando, nem as palavras que reverberavam dentro da cabeça porque, em meio às trevas, nessa quietude sufocante que o circundava, formas pálidas que se infiltravam pelas fendas da inexistência. Fechou os olhos e chorou como uma criança até que o médico chegou para confortá-lo e remover as amarras.
CAPÍTULO 45
A Milagreira chamou Freeman, passando pelos outros espíritos em direção ao lugar onde ele estava agachado na frente do corredor. O brilho da aparelhagem se retorcia em torno e através dela, como se sua carne impossível estivesse iluminada por um fogo gélido.
— Vocês estão vendo? — perguntou Freeman aos outros.
— Quem? — perguntou Starlene.
— Ela. — Ele apontou para a mulher nua cujos cabelos longos e negros flutuavam sobre os ombros. Ela parecia um daqueles desenhos de Vênus na concha feitos por algum doidão de ácido dos anos 1960, exceto pela parte das órbitas sangrentas. Nem uma vítima de superdose de drogas conseguiria imaginar uma cena assim.
— Não estou vendo nada — disse o Fraldinha.
— Nem o futuro? — perguntou Isaac. — Bom, eu vejo o Kracowski e o médico recém-chegado, o louco. Vejo também o cara estranho dobrado, apertando a barriga, como um peixe agonizante.
— Você não tá vendo os fantasmas? — perguntou Freeman. A Milagreira se aproximou com as mãos fechadas. Freeman esperava que ela não fosse abrir as mãos para olhá-lo. Ele não conseguiria aguentar naquele momento.
Ele só queria chegar até a Vicky.
— Nós podemos salvá-la — disse a Milagreira. — Sigam-me.
Freeman gelou por dentro. Ela se aproximou, com a pele tremulando como trapos psicodélicos, até que seu rosto estampou um vago sorriso. — Confie em mim — disse ela.
Freeman tapou as orelhas com as mãos. — Não. Vai embora. Você não está aqui. Você não é real.
— Confie em mim, Freeman.
— Não. Não dá pra fazer triptrap numa pessoa morta. Isso não era parte da experiência. Ele não queria que eu ficasse assim.
— Seu pai lhe fez muito mal. Mas ele também fez você. Ele lhe deu um dom. Qualquer que tenham sido as intenções dele, esse dom agora é seu e você deve usá-lo.
— Eu não quero.
— Você quer salvar a Vicky?
Desgraçada. Por que ela não ficava lá, morta? Por que ela não o deixava em paz? Ela era como todo mundo.
— Confie em mim — disse ela; um arrepio o acariciou na bochecha. Ele pensou que eram os dedos dela. Ele abriu os olhos.
Não eram os dedos dela: eram lágrimas dele.
— Confie em mim — repetiu. — Starlene diz que Deus dá o frio conforme o cobertor.
— Por que você quer me ajudar? — questionou, dessa vez em voz alta e não em pensamento.
Ela iniciou um triptrap nele e ele viu o passado através dos olhos dela, ela deitada com o velho do lago de pé ao lado dela, estava amarrada na Treze desamparada e o velho aplicava eletrodos, Freeman se contorcia em agonia quando a eletricidade cortava através de suas terminações nervosas compartilhadas, o velho de jaleco, gravata, fazendo anotações, sério, preocupado, injetando algo nela que fez o cérebro de Freeman nublar, o velho e o assistente levando-a para o porão, que estava mais limpo naquela época, mas já era escuro. Colocaram-na numa cela, a mesma em que Vicky estava presa naquele momento e até que enfim Freeman soube.
A Milagreira morrera naquela cela. Ela arrancara os próprios olhos para não testemunhar mais os tratamentos do médico. Ela sangrou em silêncio, chorando sangue até a morte. Quando Freeman sentiu o sangue dela jorrar em seu rosto, quando a dor cálida lhe recobriu a face como uma máscara derretida, quando ela mordeu a língua para não chorar e para não chamar a atenção dos assistentes que poderiam vir a socorrê-la e atirá-la a um sofrimento ainda maior, Freeman compreendeu que ele não era o único que sofria.
Ela o libertou das lembranças dela e Freeman segurou a cabeça, estupefato.
— Você está bem? — perguntou Starlene.
— Tô. — Ele enxugou o rosto antes que os outros notassem. — Eu tenho que fazer isso sozinho. Foi o que ela me disse.
— Ele está certo — concordou Fraldinha. — Foi assim que eu vi acontecer. Ele deve ir pra lá e entrar naquela sala. Freeman chega lá sozinho.
Starlene hesitou por um momento, apertou os ombros de Freeman e disse: — Está certo. Mas nós vamos ficar por perto.
Freeman esperou os três se esconderem na cela próxima. O triptrap com a Milagreira pareceu ter durado horas, mas o ambiente no porão não mudou. O pai estava perto da porta aberta que dava para a cela da Vicky, resmungando com sua voz demente algo sobre a validade, as descobertas e o controle. Kracowski estava próximo aos grandes tanques de contenção como se quisesse se esconder nas sombras.
A Milagreira desaparecera e Freeman sabia que ela estava na cela da Vicky — ou fazendo companhia para ela, ou deixando-a louca. Quando se faz triptrap num louco, a pessoa fica louca também. Freeman não conseguia chegar até a Vicky, pelo menos com o pensamento. Ele teria que chegar pelas vias normais, do jeito tradicional.
Ele engoliu seco e foi andando até a área aberta do porão. — Ei, pai — gritou ele.
O pai se virou, arregalou ainda mais os olhos e o sorriso arreganhado mudou para algo mais pronunciado e sinistro. — Mas isso é perfeito. Uma reunião de família, justo agora que estou prestes a me tornar a pessoa mais brilhante do universo.
— Por que você quer uma garotinha idiota? Ela não sabe nada sobre o poder do cérebro.
— Ela estava disponível — explicou o pai. — Não lhe expliquei como fazer ensaios?
— Você me ensinou tudo, pai. Sem esforço não há vitória, certo? — Ele apontou para o Kracowski. — Ele tinha uma ideia louca de que a gente tem que controlar as coisas, colocar limites. Mas a gente sabe que não é assim, né, pai?
— Isso mesmo, soldado. Pé na tábua, olho na estrada, todo o gás. Que é que você acha desse aqui? — O pai passou a mão pelo crânio maleável de um dos fantasmas. — Você consegue ler os pensamentos dele? — Ele colocou uma folha de zinco nos ouvidos para bloquear as transmissões de rádio das agências secretas do governo. — Parece que é o tipo de mensagem que você ia querer muito receber, não é isso, McDonald?
McDonald gemeu alguma coisa no chão e tentou se levantar sem conseguir.
Kracowski surgiu das sombras, correu para o computador e apertou umas teclas. O pai gritou para ele. — Largue isso aí, seu idiota. Você não quer fazer parte da descoberta?
— Não da sua descoberta — respondeu Kracowski. — Isto não é uma experiência.
O pai avançou em Kracowski e o afastou do computador. Kracowski desferiu um soco fraco e errou. O pai golpeou Kracowski fazendo-o cair no chão e foi verificar as leituras. Em seguida, começou a digitar freneticamente.
— Você arruinou minhas proporções, seu desgraçado — disse ele.
Kracowski disse, limpando o sangue da boca: — Eu tive de substituir os valores. Como a Fundação está mais do que envolvida, eu vi que as coisas podiam dar errado.
O rosto retorcido do pai estava verde com o brilho do monitor. — Errado? Errado? Eu vou te mostrar quem está ERRADO.
O zumbido da aparelhagem ficou mais intenso e Freeman sabia que era o momento de agir, enquanto o pai estava distraído. Ele correu até a cela da Vicky, passando com dificuldade pelos fantasmas cuja carne gélida estava mais sólida. O campo pulsava enquanto ganhava mais energia, as paredes vibravam, as portas das celas batiam contra a pedra, os pensamentos dos fantasmas entravam na mente de Freeman. Ele imaginou se essa não era a sensação de ouvir vozes, um esquizofrênico total.
Talvez a esquizofrenia fosse mais que um estado da mente, um desequilíbrio na química do cérebro. Talvez fosse a realidade de algumas pessoas. Talvez as vozes não fossem imaginárias.
— Aonde você vai, seu merdinha? — gritou o pai para Freeman.
Freeman, no entanto, acabara de passar correndo pela porta da cela da Vicky, mergulhando no abismo escuro e infinito, gritando enquanto caía para cima e para baixo e para os lados ao mesmo tempo.
A porta bateu, fechando-se atrás dele com uma decisão metálica.
CAPÍTULO 46
— Vicky?
Freeman tentou alcançá-la com as mãos e com a mente. A escuridão penetrava-lhe a garganta, sólida como uma serpente, cegando-o e ensurdecendo-o, envolvendo-o como uma segunda pele.
Os campos se deslocaram de novo e, da forma com que o mundo além da escuridão sacudia e estremecia, sua realidade exterior se fragmentaria a qualquer momento. Se isso acontecesse, se tudo que ele conhecera e odiara e temera e provara desaparecesse para sempre, ele queria estar com Vicky quando acontecesse. Dentro dela.
As palavras dela surgiram dos ermos das trevas: — Porque você não quer ficar sozinho.
— Não, é algo além disso. — O triptrap funcionou e a ponte entre eles disparou uma luz tênue. Ela ficou na outra extremidade, incandescente e pálida, assustada, a dez milhões de quilômetros de distância.
— Eles estão destruindo tudo.
— Eu sei. Assim que papai se meteu, ele estava fadado a arruinar tudo.
— Fique comigo. Estou perdendo o contato com você.
O coração de Freeman batia como um tambor fúnebre ao final de uma nênia. Se houvesse um motivo para esse dom, se ele tivesse de ser útil para alguma coisa além de causar problemas, essa seria a hora. Maníaco, deprimido, insano ou só um garotinho assustado, ele precisava do dom naquele momento. Ele queria tocar e conhecer uma pessoa antes que todo o seu universo ruísse. Quem se importava com o que Clint Eastwood faria? Qualquer que fosse o destino dos seus personagens, Clint Eastwood teve uma vida além do mundo fantástico dos filmes, o ator Clint Eastwood continuava vivo depois de passados os créditos.
Freeman não achava que teria essa sorte.
O desespero tomou conta dele, mexia com ele, eletrizava seu cérebro mais que qualquer máquina.
Dos altos e baixos, ele estava no alto como nunca estivera.
A ponte ficou um pouco mais brilhante e Vicky ficou a somente um milhão de quilômetros de distância. Ele conseguia vê-la claramente em pensamento, loura e pálida com olhos vívidos, mais linda que nunca porque ela estava chegando perto dele e ele não teria de fazer a ponte sozinho.
A luz da ponte afastou as trevas e eles se aproximaram.
— Fique comigo, Freeman — pediu ela telepaticamente.
Freeman se concentrou na imagem do rosto dela, tornando sua presença mais plena, e ele saboreava o passado dela, caminhava pela sua dor e se ajoelhava enquanto ela se forçava a vomitar. Ele absorveu as emoções simultâneas de amor e ódio pelo pai dela, o homem que quis agradar com tanto fervor e por quem ela estava tentando desaparecer.
Enquanto ele sentia essa tristeza profunda d’alma, a ponte ficou opaca e ela voltou para os confins das trevas. Ele a estava perdendo. Ela queria desaparecer e essa seria a chance.
— Não, está errado — disse ele.
— Não me diz o que eu tenho que sentir.
— Você não tem que desaparecer. Não é culpa sua. E você não é gorda.
— Freeman Mills, você está parecendo um psicólogo.
— Eu sei do que eu tô falando. Aguenta aí.
— Mas ia ser tão fácil. Só a segurança e o silêncio da escuridão. É só mergulhar que nem uma baleia velha e todos os problemas vão embora. Emagrecimento total.
— Você se lembra quando me passou um sermão falando que eu sentia pena de mim mesmo? É isso que você tá fazendo agora. Você está sendo egoísta. Acredita em mim. Eu já passei por isso.
Ele fez triptrap e projetou para ela uma lembrança dele, aquela em que ele encontrou a lâmina no banheiro da Academia Durham que algum conselheiro descuidado deixara lá e tirou a lâmina da cabeça do aparelho e a colocou nos pulsos só pensando em fugir.
Ele sentiu ela tremer quando o metal cortou e quando o sangue jorrou enquanto Freeman olhava para o corte e percebeu que não era daquele jeito que ele queria partir, não com os limites do mundo ficando cinza e com seus pensamentos esvaindo pelo chão, não daquele jeito, não como a mamãe...
Ele congelou, deixando os pensamentos como sincelos, porque abrira aquele espaço escuro sob a ponte, o lugar onde escondia todas as mazelas.
Vicky, porém, vira de relance pela brevíssima fenda, começou a sondar e a curiosidade dela fortaleceu a conexão.
— Não entendi, “como a mamãe” — disse ela.
— Nem pensa nisso — advertiu ele. — Nem tenta.
— Olha, a poucos segundos ou sei lá quanto é no tempo daqui, você queria compartilhar tudo comigo, entrar, fazer duas mentes virarem uma. Você fica com a minha gordura e eu com suas cicatrizes. Agora, quando o assunto é um pouco mais pessoal, você recua. Como é que é, rapaz?
A ponte ficou mais tênue. Ele a estava perdendo, desligando-a, voltando a si mesmo, onde ele ficaria sozinho.
Ele e suas lembranças.
Foi então que ele soube o que era o inferno. Não era um lugar quente onde um animal de rabo pontudo ficava espetando você com um tridente. O inferno estava dentro da sua cabeça, onde as portas estavam fechadas, onde a esperança nunca batia, onde as trevas, a dor e a autocomiseração eram as únicas companhias. Para todo o sempre.
E, como os caras loucos poderiam dizer, para sempre era tempo demais.
Ele se projetou até ela de novo, fez triptrap até o cérebro queimar, foi lá em cima e dessa vez o brilho irradiou da cabeça por todo o sistema nervoso, aquecendo-o, deixando-o mais vivo que nunca.
Ele quis isso.
Mais que tudo na vida.
— Fé deve ser isso — disse. — Acreditar em alguma coisa. Agora que eu entendo a onda da Starlene com esse negócio.
— Acredite em mim, Freeman. Acredite em nós.
A ponte vibrou mais forte, voltou a vida, traçando uma fita dourada na escuridão da zona morta. Vicky agora estava mais próxima, tão perto de Freeman que ela conseguia tocá-lo, mesmo que seu corpo estivesse perdido e deixado para trás. Era um toque entre almas.
Os pensamentos dela fluíam por ele, ele sentia o amor dela penetrando nele com uma suave eletricidade, uma força de vida e de anseios. Eles sondaram os espaços escuros de cada um, jogaram fora seus medos e remorsos como se fossem roupas velhas no sótão, abriram as portas interiores e caminharam juntos por salas estranhas.
A ponte era então de um branco celestial, a abertura ficando mais próxima, o triptrap levando alguma coisa além do mistério.
Ele deixou um pouco dessa luz no buraco escuro sob a ponte, o lugar que ninguém tinha permissão para ver, uma lembrança daquele dia em que o pai tomara conta de sua consciência e o fez matar a mãe. Seis anos viraram praticamente nada na terra em que o tempo não significava nada.
Vicky estava com ele enquanto o pai o energizava e fazia triptrap nele, enchendo seu cérebro de pensamentos, uma experiência da teoria de controle mental do pai, mais um dia no escritório do pioneiro mais ousado do mundo, e Freeman não tivera outra escolha além de sair do armário do laboratório do pai e caminhar até a cozinha, pegar a faca na gaveta e passar pelo corredor, com o pai exercitando as pernas, comandando seus músculos, fazendo com que Freeman quisesse fazê-lo, lembrando-lhe de que a mãe exigia perfeição até mais que o pai, com sua filosofia de “não há uma segunda chance”, convencendo-o de que a mãe era uma inimiga, que era ela que merecia ser punida por trazer Freeman para este mundo infeliz e por deixar o pai infligir todas essas torturas cruéis no filho.
Vicky abriu a porta do banheiro com ele, a mãe nunca a trancava porque todo mundo sabia que era a hora de ela ficar de molho sozinha e que todo mundo precisava de um tempo e um lugar de refúgio, especialmente quando Kenneth Mills estava fazendo seus jogos mentais e a faca estava na mão dele e o vapor no rosto dele e a mãe estava com os olhos fechados enquanto estava na banheira, o sabão cobrindo de grinalda seu pescoço, seu corpo sob as bolhas e quando ele levantou a faca, ela abriu os olhos e sorriu e o sorriso ficou congelado lá enquanto o pai o ordenava enterrar a faca e a água ficou vermelha e ela tentou dizer alguma coisa, mas ele cravou a faca e o sangue escorreu dos lábios e Vicky gritou com ele, gritou de fora para dentro e o pai riu admirado do próprio poder porque, se ele conseguia fazer uma pessoa assassinar entes queridos, logo o mundo seria dele.
Vicky ficou com Freeman enquanto ele enfiou a faca repetidamente e, mesmo sentindo o braço cansado, ele não conseguia parar, o pai o fez continuar o ato e mais lágrimas correram seu rosto junto com os respingos de sangue, as bolhas faziam seu truque furtacor em vermelho e o pai dentro da cabeça dele, sussurrando ideias insanas lá dentro, prometendo-lhe que era só o começo, ninguém vai nos deter agora que ele sabia como fazer e a Fundação?, a Fundação não importa, a Fundação não entende, esse tipo de controle só pertence aos que sabem usá-lo.
Vicky ficou com ele quando a faca estatelou no chão e o pai chegou no banheiro, pela primeira vez o pai estava orgulhoso do filho, orgulhoso porque ele conseguiu transformar o filho exatamente nele e o pai pegou a faca, limpou com uma toalha e os caras da Fundação chegaram e pegaram todas as máquinas do pai e fizeram uma ligação anônima para a polícia e o resto ficou para trás, virou passado, mas o passado pode se repetir, tornando-se um eterno presente.
Freeman esperou que Vicky recuasse agora que ela finalmente ficou sabendo. Ele merecia ficar sozinho. Esse tipo de monstro deveria ser atirado às trevas, indigno de compaixão e de amor. Um monstro como ele deveria ser condenado à escuridão do mundo sob a ponte, chafurdando em seu próprio ódio até afogar-se.
— Eu... Eu não sabia — disse Vicky. A ponte se enfraqueceu.
— Vai embora.
— Por que você não me contou?
— Sai da minha cabeça.
A ponte ficou muito tênue, desfez-se e dissipou como um fantasma que morre pela segunda vez.
— Não — protestou ela.
A luz se avolumou. A ligação ficou mais forte e ela se jogou de novo, atirou-se em direção a ele, agarrou com toda a ânsia as coisas que Freeman chamava de esperança.
Ela se abriu para ele, oferecendo-se por inteiro, derramando-se nele que não tinha barreiras contra isso porque foi pego de surpresa e nunca supusera existir tamanha força.
A ponte estava tão quente quanto o sol, mais cegante que as trevas em volta dela, mas Freeman via claramente que as almas tinham uma substância, ele andava de uma extremidade a outra da ponte, lentamente, cada passo um milagre, e Freeman manteve seu foco à frente dele para não ver as laterais da ponte onde a escuridão fluía como rios em todas as direções, fazendo torvelinhos onde giravam coisas mortas.
— Não é culpa sua — disse ela. — Eu te entendo.
Ele já tinha ouvido isso antes. Não era culpa dele. Ele era a vítima perfeita. Ele só estava no lugar errado, na hora errada, com a alma aprisionada no corpo de um menino, filho de um homem que almejava um poder exclusivo de Deus.
O poder de moldar almas, esmagá-las, queimá-las, arruiná-las.
O poder de infligir o pior tipo de dor.
— Eu não queria... Não era isso que eu queria dizer — disse ele.
A imagem de Vicky se aproximou. — Vai ficar tudo bem, é só a gente ficar junto.
— Acho que a gente não vai voltar. Pro mundo real, sabe? Acho que o papai tá matando a gente lá na vida real.
— Não estou mais com medo.
— Nem eu.
— Vem, toca em mim.
Eles se aproximaram, eliminando a distância que havia entre eles, o empuxo de suas almas exercendo gravidade espiritual, tão próximos, com tanta esperança, desesperadamente próximos, uma centelha e uma batida de coração de distância para uma ligação mais forte que a dos átomos.
Aí apareceu o lobo.
O pai ficou entre eles com sua alma negra, seu cérebro enlouquecido e seus dentes afiados, pronto para devorá-los.
CAPÍTULO 47
Starlene abraçou Fraldinha e Isaac na cela escura. As paredes tremiam, as portas de metal batiam nos corredores e detritos do gesso velho caíam do teto. O que Kracowski e Mills estavam fazendo, o que quer que fosse, estava derrubando o prédio.
— Que é que tá acontecendo, Fraldinha? — disse Isaac. — Quer dizer, o que é que vai acontecer?
— Fica mudando — respondeu Fraldinha. — Primeiro todo mundo morria e perambulava por aí, depois estávamos do outro lado da cerca, olhando para o prédio.
— Todo mundo estava lá do lado de fora? — perguntou Starlene.
— Não. O Freeman e a Vicky não.
— Era isso que eu temia. — Starlene não tinha certeza se Deus queria que as pessoas soubessem o futuro porque elas tentariam alterá-lo. Talvez, porém, os planos de Deus exijam essa responsabilidade pelo futuro. Deus não manda nada que não se possa lidar, até telepatia, clarividência e precognição.
Ela ficou pensando se Deus queria que ela expandisse sua consciência para fazer triptrap como Freeman e Vicky. Decerto Ele não a impediria caso fosse mesmo Sua vontade. Se ele não aprovasse, no entanto, poderia Ele culpá-la por tentar? Poderia ser um pecado nunca antes considerado. Ela fez uma pequena prece e conectou-se com Deus daquele jeito estranho e poderoso, o maior triptrap de todos.
Ela fez a pergunta e a resposta veio. O coração dela estava certo. Sua alma, pura energia. Ela reavivou na memória aquele breve momento na Treze em que ela leu os pensamentos dos que ali estavam.
Nada.
Isaac deu uma olhada pela porta da cela. — O médico novo tá fazendo alguma coisa com as máquinas.
Starlene fechou os olhos e se concentrou. Ela só conseguia ouvir seus próprios pensamentos de pânico e a vibração do prédio retumbando nos ouvidos. Do teto caía pó da alvenaria que se deteriorava. Ela abraçou os garotos com mais força.
— Vai ficar tudo bem — acalmou. — Foi Deus que me disse.
Isaac perguntou ao Fraldinha: — O que Deus disse pra você?
— Não é Deus que fala comigo — respondeu Fraldinha.
Starlene tentou de novo, pedindo a Deus que, se fosse de Sua vontade, que lhe desse forças. Ela ouviu uma voz do fundo da cela. Ela se virou para o canto escuro e viu a Milagreira — etérea, inteira, sorrindo.
— Eu também orei a Deus — disse a Milagreira. — Todas as noites, mesmo com a mente perturbada depois das injeções que os médicos me davam.
— Você morreu aqui, não foi? Em Wendover? — perguntou em voz alta, mesmo que a Milagreira conseguisse falar com ela diretamente pelo pensamento sem o recurso do som.
— Com quem a senhora tá falando? — perguntou Isaac. — Com um dos seus fantasmas?
A Milagreira ficou mais sólida, mais radiante, vestida em algo que parecia um camisolão diáfano e prateado.
Isaac arfava, surpreso: — Eu tô vendo ela.
— Tenha um pouquinho de fé, Isaac — disse a Milagreira. — Milagre acontece todo dia.
— Você é... um anjo? — perguntou Fraldinha.
Ela sorriu. — Se você acreditar... Um dia você vai entender, mas espero que não seja muito em breve.
— Você está aqui pra nos ajudar — disse Starlene.
— Estou aqui para nos ajudar — disse ela com sua voz suave e tranquila — ajudar a todos os que tiveram seu descanso perturbado.
— Que faremos agora? — perguntou Starlene.
A Milagreira sorriu de novo com olhos doces, imbuídos numa luz estranha que, para Starlene, lembrava a luz de uma vela atrás de um vidro esfumaçado. — Procure dentro de você, é lá que está a resposta. Edmund, a resposta está na ponta dos seus dedos.
A Milagreira desapareceu na escuridão.
— Uma ajuda e tanto — comentou Isaac. — Foi quase um texto de seriado daqueles que fazem chorar, que aparece um anjo que resolve todos os problemas bem na hora do comercial. E o cabelo dos personagens nem se mexe, fica sempre arrumadinho.
Starlene se esticou pela porta da cela e viu Mills digitando fervorosamente os comandos no teclado do computador. Os feixes dos espíritos passavam em torno dele numa voragem de filamentos espectrais dispersos. Com o lábio inferior inchado e com um corte no couro cabeludo, Kracowski se arrastou até McDonald. As luzes de serviço acima dos tanques de contenção pulsavam irregularmente como se a sobrecarga da rede elétrica estivesse prestes a derreter a fiação.
Em seguida, Fraldinha disse para ela: — Olha o que eu achei — e colocou um objeto nas mãos dela.
Uma pistola.
CAPÍTULO 48
— Seu merdinha, você nunca foi grato pelo que eu lhe dei — disse o pai.
Freeman tremeu e a zona morta além da ponte ficou mais tentadora do que nunca. A vontade dele era mergulhar nas trevas e não se preocupar mais. Ele nem se importava de enfrentar a morte e a escuridão se estivesse com a Vicky, mas nunca o faria na presença do pai, inteligente ou louco o bastante para se dividir em dois para ficar uma metade no mundo real e outra lá na zona morta.
— Então você acha que vai levar esse saco de vômito com você? — disse o pai fazendo triptrap nos dois. Ele se virou para Vicky. O espectro dele tinha um contorno bem definido de três metros de altura e com as garras prontas para enfiar em qualquer coisa que lembrasse uma unidade.
— Não encosta nela — disse Freeman mentalmente.
— Ah, agora você tem coragem, soldado? Você era tão fácil de controlar, seu miserável. Eu tentei com outras pessoas, até com a sua mãe, mas ninguém cedeu tão fácil como você. Você abriu sua mente e me convidou pra entrar e até ousou jogar comigo.
— Isso faz muito tempo. Eu era muito criança. Como é que eu ia saber o que estava acontecendo?
A risada do pai irrompeu na zona morta fazendo as trevas tremerem, puxando o manto da noite eterna para mais perto deles. — Ainda tentando jogar a culpa nos outros, né, Freeman? Você passou a sua vidinha ridícula apontando para os outros e dizendo que não era culpa sua. Sinto dizer, seu cabeça de merda, que a culpa é sua.
O pai se virou para Vicky e a força do triptrap dele passava queimando por eles. — Então ele finalmente te contou, bunda-gorda? E é tudo verdade, menos a parte em que ele disse que fui eu que o fiz fazer. A verdade é que você sempre quis matá-la, não é, Freeman? Foi ideia sua e você alimentou essa fantasia de que fui eu que te fiz fazer isso. Você não consegue me contradizer, não é, soldado?
Freeman desejou voltar para o corpo e sofrer dor de carne e osso. Ele não queria morrer assim, pressionado por uma culpa que o seguiria para além da vida e da morte.
Os pensamentos de Vicky entraram nele, atropelando os do pai. — Calma, Freeman. Não importa o que aconteceu, agora tudo passou.
— Passou? — disse o pai num triptrap ciclônico — agora é que está começando. O controle da mente não termina quando o coração para de bater. Graças ao Kracowski, posso atormentar você pelo resto da eternidade.
Num relance, Freeman teve uma visão do que o pai guardava para ele, um futuro sem fim em que o pai estuprava Vicky e obrigava Freeman a observá-lo, enfiava rosquinhas fritas na boca de Vicky, trazia a mãe à vida para que Freeman a matasse de novo e de novo, um futuro em que os mortos insanos jogavam seus pensamentos torturantes para dentro da cabeça de Freeman e ele sentiria toda a dor de todos os espíritos do mundo. Um inferno interior.
A visão se desfez e ele estava de volta na ponte, Vicky recuando na outra extremidade da ponte já instável, já minguada, o espírito tenebroso do pai se ampliando, fundindo-se com a escuridão por detrás deles, mesclando-se à zona morta, personificando-a, absorvendo a força que permeia tudo, que constitui um universo em que não há lugar para a luz nem para a paz.
As bordas da zona morta estremeceram, monstros gritavam de suas cavernas ocultas, espectros sussurravam suas penas sob uma chuva cinza de desespero cuja torrente acabou levando a ponte. As trevas devoraram tudo, chegaram a Freeman, mordiscavam-no com seus dentes e ele se sentia cansado, pronto para se render porque o pai estava certo.
A culpa era dele.
Ele merecia toda a punição que o pai conseguisse sonhar.
Enquanto ele fechava os olhos da alma, um relâmpago o energizou, um eletrochoque de energia.
— Nós vamos vencê-lo — disse Vicky inundando seu pensamento, preenchendo-o. — Juntos.
Preenchendo-o mais e mais e mais.
CAPÍTULO 49
Starlene pressionou as palmas úmidas das mãos ao redor da arma. Seria esta a resposta à sua prece? Um sinal de Deus?
Deus dá o frio conforme o cobertor.
Mas o que ela deveria fazer? Parecia que a arma não tinha trava de segurança. Ela sabia apontar e puxar o gatilho, mas será que ela conseguiria atirar realmente num ser humano?
— Estou vendo outro futuro — revelou o Fraldinha.
— Ótimo — disse Isaac. — Por favor, diz que nesse aí todos viveram felizes para sempre, até os judeus.
— Isso não acontece em nenhum futuro.
— E esse então? Starlene vira uma d’As panteras e acaba com a raça dos bandidos.
— Tipo isso. Mas é melhor a gente sair do porão.
— Ele vai desabar, não vai?
— Não. É porque tudo vai virar uma zona morta.
Starlene orientou: — Vocês vão direto para a escada. Eu vou logo depois de vocês. Preciso fazer uma coisa antes.
Isaac deu a mão para o Fraldinha e Starlene os encaminhou para a escada no corredor. O porão era um caleidoscópio extraordinário de luzes e ruídos. Ela ficou observando e esperou a porta para a escada se fechar, depois foi até a abertura da área principal, onde as luzes piscavam e a aparelhagem zunia. Espiou o corredor e viu Kracowski prostrado no chão, segurando a cabeça com as mãos. McDonald jazia inerte perto da cela em que Vicky e Freeman estavam trancados. Os grandes painéis curvos lembravam uma estação espacial e chacoalhavam sob os comandos que Mills dava para o maquinário. Mills estava perto do computador de olhos fechados, com um sorriso perverso no rosto.
— E agora, Deus? — perguntou ela segurando a arma.
Ela sentiu uma mão no ombro e se virou quase esperando ver a face de Deus — ou, talvez, da Milagreira — mas era Randy, que lhe deu um golpe e sua mente gritou em azul e ela ouviu o chocalhar da arma contra o piso pouco antes da cabeça ir de encontro ao concreto frio.
CAPÍTULO 50
Calorosa.
Assim era essa união, assim que ele sentia a esperança e a fé. Vicky estava certa. Quando se está junto, é possível vencer as trevas. Quando se está junto, não é preciso se explicar nem se desculpar.
— Ah, faz-me rir — disse o pai agora com sete metros de altura com uma névoa sinistra emanando de seu espírito. — Você mata a sua mãe e agora pensa que vai sair só com um tapinha na mão porque agora você tem alguém com quem compartilhar a culpa. Não é assim que se faz, soldado.
— Você não sabe tudo — disse Freeman em triptrap, furioso, sentindo esse calor se expandir, vendo a ponte cada vez mais brilhante sob o vulto monstruoso do pai. — Você acha que é Deus, mas é tão miserável quanto eu. É até pior. Eu nunca pedi nada disso, foi você quem procurou. Você implorou, vendeu sua alma para conseguir isso. Fez todos os truquezinhos do seu livrinho idiota, mas nada mais é que um jogo mental sem sentido. Agora o jogo acabou.
— Ele mentiu — disse Vicky. — Ele nunca deu dom nenhum pra você. Ele deu pra si mesmo.
— Cale a boca, esqueleto. — O vulto do pai estremeceu e a boca parecia viva, com formas malignas que esvoaçavam como criaturas aladas. — Quem está no controle aqui sou eu. Fui eu quem criou este mundo.
— Então fica com essa porra de lugar — retrucou Freeman. — Não conte conosco: estamos indo embora. Na zona morta, ninguém precisa seguir suas regras.
Ele se concentrou, se fortaleceu contra os pensamentos do pai, projetou-se para o alto e avante e Vicky se juntou a ele — a força reunida do triptrap deles atravessava a zona morta em direção ao mundo real e físico através das paredes da cela no porão:
Lá, o pai, em carne e osso, no computador.
Kracowski se contorcendo de dor e combalido de remorso.
McDonald rolando no chão, louco com visões de coisas que nunca esperaria ver.
Randy...
Randy?
Randy, blindado, indo até McDonald, uma missão a cumprir.
E Starlene.
Freeman e Vicky estavam na mente de Starlene, tudo cinza. Depois preto.
Voltaram para a zona morta.
O pai entre eles de novo.
Freeman tentou outro triptrap, não para além da zona morta dessa vez, mas para a própria zona morta. Ele chamou os que se escondiam nas trevas, os que orbitavam esse universo bizarro. Os mortos. Os fantasmas. Os donos dessa terra desolada.
Vicky e ele se uniram, pensamentos alquebrados e infelizes passaram por eles, os sonhos e as sinas dos que morreram naquele porão, aqueles cujas almas estavam cerzidas nesse tecido, os habitantes de lá.
Um vulto chegou da escuridão, a Milagreira, sua luz era tênue, mas firme, o pai confuso por um momento, como se o campinho tivesse mudado durante o jogo.
— É isso aí, desgraçado — disse Freeman tirando vantagem desse lapso. — Se você quer brincar de Deus, tem que conhecer as almas que lhe pertencem.
A Milagreira ascendeu até a ponte, suave como um floco de neve, e a ponte ficou mais brilhante. Os olhos dela estavam curados, o rosto estava límpido; sua alma, pura. Assim que ela se uniu à ponte, brilhou mais forte, o mundo girou mais uma vez e uma tempestade retumbou nos cantos escuros da zona morta. Um vento estranho soprou seu frisson e remoinhou em torno da ponte.
O vulto da Milagreira se dissolveu, se deslocou, alinhou sua alma. Sua aparição cedeu lugar à mãe de Freeman.
Mamãe.
— Não vá embora — disse Vicky a Freeman. Ele olhou nos olhos da mãe e ela não tinha cicatrizes, não trazia consigo nenhum remorso.
— Está tudo bem, Freeman. — A mãe lhe sorriu. — A Vicky está certa. Não foi culpa sua.
O pai inchou de raiva num desconforto hediondo e tenebroso. Foi até a mãe de Freeman como se estivesse pronto para desabar sobre ela, arrastá-la de volta para a lembrança. — Que DIABOS você está fazendo aqui? QUEM MANDOU VOCÊ VOLTAR?
— Ah, eu não lhe disse? Foi uma coisa que aprendi depois que você me assassinou. Carregamos nossos mortos dentro de nós, Kenneth.
Freeman fez triptrap nela e viu a verdade: ela também foi uma vítima de Kenneth. E foi ele, o pai, quem entrou no banheiro com a faca; foi o pai cuja carne perversa desejou usufruir do poder máximo. Freeman fez triptrap no pai, que se enfraqueceu, e viu o que ele escondera: o pai implantara a lembrança de Freeman cometendo o crime, confundiu o hipocampo e inventou uma história deturpada.
A mãe cresceu, se tornou a Milagreira de novo, branca, quente e furiosa, e todos os fantasmas da zona morta saíram de seus espaços secretos, aglomerando-se dentro da Milagreira, que se tornou um enorme globo brilhante, mais brilhante que um bilhão de estrelas, e agora era ela, a mãe, do tamanho do mundo, queimando o pai, calcinando-o, a alma de seu pai gritou e se arrastou e a mente de Freeman recebeu um fragmento de pensamento, Freeman e Vicky se seguraram ante à estranha explosão iminente, o bigue-bangue de um universo separado, o nascimento e a morte concomitantes de um lugar impossível de existir.
Freeman em triptrap, Vicky com ele, tudo ao mesmo tempo, o dom se expandiu e ele viu Starlene piscar os olhos, acordar, olhou pelos olhos dela o pai em frente ao computador, esperando destruir a máquina, mas o tiro passou longe, passou pelo ombro do pai e atingiu um enorme tanque contra a parede.
A perfuração fez o tanque chiar. Freeman e Vicky fizeram triptrap em Starlene, dizendo-lhe para correr as escadas bem rápido, não se preocupe conosco, estamos bem, estamos juntos e a ponte não tem que se romper e sempre haverá esperança com mil caminhos para a cura e adeus e o pensamento final do pai cortou o espaço e Freeman pensou se o pai lhe pediria perdão.
O pai disse “carregamos nossos mortos dentro de nós, soldado” e depois foi embora, seu cérebro congelou, a zona morta tremeluzia, tornou-se algo estranho e maravilhoso e ele sofreu o menor medo de todos, mas aí sentiu a mão da Vicky, a mão de carne e osso, o frio chegando, o frio que passou sob a porta da cela, o frio que tirou o fôlego e levou a dor embora.
Assim, juntos, despediram-se da carne e caminharam por uma paisagem que era só deles.
CAPÍTULO 51
Starlene ficou no portão de Wendover, olhando para as pedras frias e as janelas impassíveis do edifício. O prédio foi desocupado e as crianças estavam andando por lá como se fosse feriado, brincando sob as árvores, jogando pinhas umas nas outras, gritando quando os caminhões passavam pelo prédio. As nuvens se abriram e o outono brilhou sobre o mundo cheio de promessa de mudança.
— O que você fez? — perguntou Isaac para ela.
— Na verdade, não sei. Só sei que eu puxei o gatilho e Freeman e Vicky me disseram pra correr, eu estava no fosso da escada e achei que eles tinham conseguido escapar e fugir porque a voz já estava longe. Uma espécie de gás vazou do tanque, aí eu fechei a porta que dava pra escada, depois saí, vi vocês dois e os guardas levando as outras crianças para o ginásio.
— A porta. Ela fecha automaticamente — disse Isaac.
Starlene sentiu o sangue sumir da face. — Eles ficaram presos.
— A culpa não foi sua, foi culpa dos idiotas que colocaram as fritadeiras de cérebro lá em baixo — disse Isaac.
Fraldinha balançou a cabeça. — Eu não vi isso, não. Não com Freeman e com Vicky e todo mundo lá embaixo.
— Onde eles estão?
O garoto sorriu. — Não consigo mais ver. Assim que as máquinas desligaram, não consegui ver mais o futuro. — Mas acho que eles vão ficar bem.
Será que ela os matara? Como ela se perdoaria? Starlene enxugou os olhos, ignorando a dor escruciante que lhe apertava o coração, dando-lhe forças para ficar com as crianças. — Espero que você esteja certo.
— Bom, tem futuros que ninguém sabe — considerou Fraldinha.
— Deus sabe — disse Starlene. — Deus sabe de tudo.
Paula Swenson estava conversando com Bondurant na entrada de carros. O homem tremia e passava a mão na cabeça. Puxou um frasco prateado do bolso e Swenson sorriu de aprovação enquanto ele tomava um trago. Pálido, com olhos vermelhos, ele tiritava.
Starlene se aproximou dele. Ela ouviu Swenson dizer: — Você estava bêbado o tempo todo, entendeu? Eles vão fazer algumas perguntas, mas você não sabe de nada.
— Eu não sei de nada — disse Bondurant. — Acredite: eu não sei de nada. Digo e repito: eu não sei de nada. — Ele virou o frasco mais uma vez e o sol da tarde reluziu no metal.
Swenson veio falar com Starlene. — Você não tem ideia do que fez. — Sua voz era fria, áspera, muito diferente da figura jocosa e fagueira como costumava ser. Starlene viu uma pistola na cintura dela.
— Eu acho que faço alguma ideia, sim. Mas talvez eu nunca saiba do resto.
— Você já sabe demais. Vamos nos livrar das máquinas e temos os dados gravados e arquivados; pelo menos não perderemos o trabalho do Kracowski.
— Você está metida nisso, não está? O que era essa “Fundação” de que o Freeman falava?
— A Fundação não existe.
— Queria ser uma mosquinha só pra ver o que você vai explicar para as autoridades.
Swenson deu um sorriso cansado. Ela parecia mais velha, com rugas em torno dos olhos. — Você fala das seis pessoas que morreram congeladas num dia quente de setembro? Acho que vamos ter que trocar uns favores. E contamos com você para ficar de boca calada. Também podemos esfacelar sua memória. Com certeza você não quer terminar seus dias num manicômio, quer?
— Você não ousaria.
— Ah, eu me esqueci. Você é do tipo que se sacrifica. Religiosa. Acredita no martírio. Bom, vamos tentar de outro jeito. Você não quer que nada de mal aconteça com essas crianças, quer?
Starlene olhou em volta as crianças brincando, Fraldinha e Isaac a observavam do portão, Deke estava sentado sozinho, puxando matinhos invisíveis do chão. Ela olhou para o arame farpado e de novo para os campos, para o lago onde o morto mergulhara, para o edifício deteriorado com gente deles tirando freneticamente os equipamentos do porão. Depois ela olhou para as montanhas ao longe.
Que é que ela diria para a polícia ou para o DSS? Que uma agência secreta realizava experiências de controle da mente que traziam os mortos de volta à vida? Que espíritos insanos saíam do chão? Que ela se comunicara telepaticamente com os mortos? Que ela ajudara a matar seis pessoas, umas inocentes, outras culpadas?
Ela acabaria num manicômio se contasse a verdade. Tudo parecia um pesadelo estranho, mesmo que ela tenha ouvido os ecos dos últimos pensamentos de Freeman e Vicky: eles estavam desvanecendo e ela não teria sequer certeza se existiram ou não.
Ela não saberia dizer se tinha visitado o mundo dos mortos.
Ela não saberia dizer qual era a verdade verdadeira.
Talvez a Fundação realmente embaralhara as lembranças dela sem ela saber.
Ela deu de ombros, mas esperava de todo o coração que Deus soubesse e compreendesse. Ela se lembrou também de que Deus dá o frio conforme o cobertor.
— Tá, o negócio é o seguinte — disse ela para Swenson. — Deixe as crianças em paz. Você se livra do Bondurant. Eles vão fechar este luar, mas as crianças vão para outro abrigo. Todas elas juntas. E eu vou com elas. Se a sua Fundação tem tanta bala na agulha como você diz, não deve uma coisa difícil de se conseguir.
Swenson acenou para o furgão que vinha pela entrada de veículos. Ela o direcionou para o portão e o observou sair até a estrada de cascalho, deixando nuvenzinhas de poeira que dançavam como fantasmas antes de serem varridas pela brisa.
— Fechado. Vamos fazer a pistola sumir do mapa também — disse Swenson. — É fácil pra nós fazer as coisas sumirem. Lembre-se disso.
Os olhos de Starlene se encheram d’água. Swenson suspirou e lhe ofereceu uns guardanapos que ela tinha no bolso. — Tome. Nada aconteceu, estamos conversadas? Continue fazendo aí o trabalho de Deus e aguente as pontas por eles. Não me faça vir atrás de você. Eu adoraria, mas ia ser muito chato.
— Eu fiquei pensando no que o Freeman me disse: “carregamos nossos mortos dentro de nós”.
— Essa foi boa. Por que você não usa na sua próxima sessão de terapia? Agora, com licença, tenho muito trabalho pela frente. Não vai dar pra manter esse incidente em segredo por muito tempo; quero ter certeza de que a verdade vá exatamente no caminho que queremos.
Swenson se mexeu para sair, mas Starlene a pegou pelo braço. O rosto de Swenson era inexpressivo, impassível como as pedras de Wendover.
— Diga para eles desistirem — admoestou Starlene. — Não se deve brincar de Deus.
— Quem está brincando? Você agora nos fez voltar no tempo, mas sabe o que mais o Freeman dizia? Numa das fitas, quando ele tinha seis anos e Kenneth Mills estava começando a lhe ensinar a PES.
Starlene olhou para as crianças atrás. Ela não tinha certeza se queria saber do que estava prestes a ouvir.
— Ele disse: “Papai, isso é igual quando Deus fala com a gente?”
Starlene olhou o céu, aquela faixa azul que se estendia para além da imaginação, infinita e implacável, feita de fragmentos imponderáveis.
— Agora vá embora daqui — ordenou Swenson. — De agora em diante, você não tem mais nada a ver com isto.
Swenson se aproximou de Fraldinha e de Isaac e passou o braço em torno deles. — A gente precisa conversar.
CAPÍTULO 52
— Charlie.
— Oi. — Charlie estava de mau humor. Novidade nenhuma. A mulher dele o estava traindo com um vendedor de casas pré-fabricadas e na noite anterior as onze latinhas de cerveja que tomou estavam ótimas, mas não naquela manhã. Ele já tinha martelado o dedão e, pior de tudo, o pagamento daquela semana já estava todo comprometido. A última coisa que ele queria era dar papo pro Jack Eggers.
Jack limpou o pó de gesso do nariz. — Olha isso.
O quadril de Charlie estava servindo de apoio a uma folha de gesso cartonado enquanto ele pegava alguns pregos. — Cara, vamos deixar tudo pronto pra gente ir embora logo daqui.
— Isso é muito doido.
Você é muito doido, Jack.
Charlie martelou uns pregos no gesso cartonado. Assim que a placa estava pregada no lugar, ele colocou o martelo na bainha do cinto de ferramentas. Pegou a trena e a levou ao teto. Mais uma folha de gesso e eles já estariam no corredor. Charlie gostaria muito disso porque a sala lhe dava arrepios, mesmo com as lâmpadas de halogênio quentes o bastante para quase queimar as córneas.
— Me dá uma mão aqui — pediu Charlie. Jack não respondeu.
Charlie se virou. A poeira esvoaçava ao brilho da lâmpada. Jack estava no meio da sala e a luz projetava sua silhueta meio curvada na parede cinzenta com o acabamento por fazer. Os cabelos de Jack estavam brancos de gesso. Ele estava olhando para o chão.
— Não tenho tempo pra isso. — A ressaca de Charlie fazia o dedão inchado latejar ainda mais, como um caminhão parado em cima de uma mangueira de jardim. — A gente ainda tem que passar fita e lixar. A galera da pintura vai chegar na sexta e eles não são moleza, cara, mandam voltar na hora. Quero pegar meu cheque e cair fora, senão vai ser “conserta isso”, “remenda aquilo” e não acaba nunca.
Jack continuou a olhar fixamente para o chão. — Se tentar cobrir, não adianta: ainda vai estar lá.
Charlie tiritou mesmo com o pescoço pingando de suor, fazendo uma laminha na pele com a poeira. Uma vez, Jack e ele reformaram o quarto de uma viúva. O marido dela era policial e se matou com uma doze, espalhando miolos e sangue e gosma na parede toda. E era na parede mesmo: reforço, isolamento, tabique, tudo recheado de carne ressecada. Eles tacaram folhas grossas de gesso cartonado em tudo, taparam e fizeram as emendas, mas aquele cheiro de morte ainda estava tão forte quanto antes.
Se tentar cobrir, não adianta: ainda vai estar lá.
Foi o que disse a viúva do policial.
— Porra, Jack, é hora do lanche. — A garganta de Charlie estava seca por causa da poeira. Ele tinha um ou dois dedos de uísque no fundo da garrafa térmica só esperando dar dez e meia.
— Ninguém veio aqui em baixo, veio? — perguntou Jack.
— Só os babacas aqui. — Tinha mais gente trabalhando lá, colocando janelas no piso superior da ala oeste do prédio, mas eles estavam tão longe que Charlie só de vez em quando ouvia alguém largando um palavrão ou uma ferramenta.
— Então como é que isso veio parar aí? — perguntou Jack apontando para o chão.
A trena de Charlie deslizou para dentro de seu compartimento, chacoalhando como uma cobra metálica.
Não olhe, ordenou Charlie para si mesmo. Não olha, porra, não olha.
Ele já tinha visto muita coisa esquisita nos últimos dois dias em que estavam trabalhando naquela parte do porão. Via pequenos movimentos com o canto do olho. Às vezes ele se virava rápido para conseguir ver, mas nada havia além de poeira fina girando no ar. Não era nada demais, ele sempre atribuía isso aos olhos embaçados depois de já ter tomado uns gorós.
Mas tinha as histórias sobre as crianças, do que tinha acontecido lá e do motivo pelo qual os proprietários estavam tão desesperados para fazer uma recauchutagem geral e passar o ponto para frente — para se livrar do prédio.
Charlie tentou engolir a saliva, mas a poeira descia como cascalho pela garganta.
Jack disse: — Você tá tão injuriado hoje que eu nem tô a fim de fazer piada.
— Nada de piada, cara, tô trabalhando. Aliás, você também.
Jack se levantou e olhou para Charlie. A língua de Jack estava entre os dentes como se estivesse se esforçando para pensar. Geralmente Jack não se dedicava ao pensamento, nem se lhe desse um mapa em chinês só com curva para a esquerda.
— Não foi você que fez isso, foi? — perguntou Jack, que se virou e olhou para o chão novamente.
— Tá bem, que saco. — A voz de Charlie ecoava nas paredes do cômodo vazio e ricocheteava nos tímpanos. Ele largou a folha de gesso cartonado e foi pisando duro até onde Jack estava. — Que merda é essa que eu não fiz?
Jack apontou.
Charlie olhou para o chão. O saco dele encolheu e o coração contabilizou os cigarros de toda a sua vida de fumante.
Se tentar cobrir, não adianta: ainda vai estar lá.
Tudo o que tinha acontecido ali ficou entranhado nas paredes, exatamente como na casa do policial suicida. As mãos de Charlie começaram a tremer e ele sabia que aqueles dois dedos de uísque na garrafa não dariam conta daquilo. Ele sairia mais cedo hoje, ligaria para o empreiteiro e fingiria que estava doente na segurança do sofá do apartamento.
Talvez ele tivesse bebido tanto que não estivesse mais doente. Talvez a bebida o tenha deixado são.
O piso estava coberto com uma fina camada de poeira marcada pelas pegadas dos dois.
Entre elas, rabiscada no pó sobre o chão de concreto, uma palavra:
“Livres”.
Scott Nicholson
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















