



Biblio VT




SONHOS. É ISSO QUE VENDEMOS. OS HOMENS E MULHERES MAIS BONITOS DO MUNDO. DEUSES E DEUSAS. FUGA. É ISSO QUE VENDEMOS...
Para o director de estúdio Eli Hebron, não havia fuga. Não da fascinante teia de sonhos de Hollywood em 1927, nas vésperas do aparecimento do som. Nem da irresistíve atracção pelo poder que entusiasmava o extravagante circo da política do estúdio. Nem da sedutora Gladys Divine, a auspiciosa jovem estrela, cuja beleza ameaçava levar Eli, ainda atordoado com o suicídio da mulher, também estrela de cinema, ao derradeiro desastre.
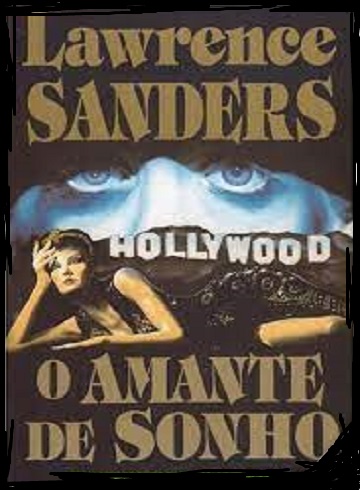
A porta principal da mansão de Beverly Hills era de carvalho maciço. Estava pintada de branco-brilhante com ornamentos dourados. Eli Hebron saiu calmamente, a testar
o dia como um nadador a mergulhar a ponta dos dedos. Voltou a cara, cansada da noitada, para o céu. A oeste, por cima do mar, viam-se traços de giz sobre azul-china. Vivia na Califórnia há oito anos, mas ainda se maravilhava com o céu alto, nuvens baixas como coelhos, seios, ursos, coxas, peixes, nádegas. E dragões.
E a luz pulsava. Não se voltou para leste.
Barney O'Hara estava encostado à limusina Hispano-Suiza castanha, na entrada de carros empedrada. Folheava a Variety, enquanto chupava avidamente um pau de fósforo. O colarinho almofadado mantinha-lhe cabeça erecta e, por isso, tinha de segurar a revista ao alto. Usava um chapéu de linho branco com botão, uma jaqueta com padrão brilhante, calções de golfe com borlas que pendiam das jarreteiras. Meias brancas com nervuras. A camisa tinha colarinho mole. Wally Reid iniciara a moda. A gente da Arrow tinha objectado, mas agora já estavam a fabricar colarinhos moles.
Eli Hebron desceu os degraus, com a pasta espanhola de pele na mão. Taki, o jardineiro japonês, vinha a dobrar a esquina, com as flores: rosas amarelas e malmequeres brancos, com avencas à volta, todos artisticamente arranjados num cesto de vime em forma de trompa, que podia ser espetado na campa.
- Obrigado, Taki - disse Eli Hebron.
Em seguida, como um mágico, Taki tirou do seu casaco de lona um pequeno raminho de rosas chá. Rosa-pálido. Como sangue diluído.
Hebron pegou no raminho, a sorrir.
- Eu ponho-as - prometeu.
Taki assobiou levemente, inclinando a cabeça.
A caminho do cemitério de Hollywood, Hebron tentou ler um ar-
. tigo de uma página sobre "A Ponte de Saint Louis Rey". As palavras
não lhe diziam nada; voltou a pô-lo na pasta. Acendeu um Lucky
Strike, olhou pela janela. Inclinou-se para a frente para ver uma fila
8
de crianças que pulavam rua abaixo com saltitões, como uma fila de maçaricos-das-rochas, aos saltos na praia. Uma bela cena.
- Acha que ele vai conseguir, Sr. Hebron? - perguntou Barney O'Hara.
O pescoço partido tinha-lhe alterado a voz. Tornara-a mais grossa e gutural. Barney fora um dos quatro melhores duplos de Hollywood. Mas há um ano, numa rixa de
bar para um filme western da Magna, a cadeira que era suposto ser de pau-de-balsa frágil era, afinal, de pinho sólido. Depois de 0Hara ter sido levado para o hospital, descobriu-se que um dos aderecistas tinha feito a troca no último minuto. Barney andava a foder a mulher dele.
Assim, o aderecista fora despedido, e quando O'Hara acabara o tratamento, Eli Hebron fizera dele o seu motorista e guarda-costas.
- Muito obrigado, Sr. Hebron - dissera Barney, agradecido. Tinha mulher e seis filhos.
- Acho que quem vai conseguir o quê? - perguntou Hebron, do banco traseiro.
- Lindberg - disse O'Hara. - Aquele jovem aviador. Não foi visto nem falaram com ele, desde que descolou.
- O'h? - exclamou Hebron. - Ele descolou, não foi?
- Claro. A rádio deu a notícia. Ontem de manhã. Ainda tem hipótese.
Eli Hebron imaginou um jovem destemido, a sobrevoar o oceano cruel. Sozinho. Escuridão. O barulho do motor. Trepidação. A queda...
- Se conseguir - disse -, vai ser bom para o Asas, da Paramount.
- Vai dar uma lição aos cépticos - disse O'Hara.
A campa dela era perto da cripta de Valentino, e era muito recente. Tinha um anjo de mármore frio com olhos voltados para cima e com o pescoço curto de mais para
o gosto de Eli Hebron. O peito de pedra era raiado. A inscrição dizia: "GRACE DARLING: 1903-1925. Nos
NOSSOS CORAÇÕES PARA SEMPRE."
Transpôs o portão. O'Hara seguiu-o, carregando as flores. Estava um dia esplêndido, radioso. Iriam precisar de lençóis nos cenários de exterior. Hebron ouviu o som
de um aparador de relva, sentiu o cheiro intenso de relva acabada de cortar.
Parou, espantado. À volta da campa dela, estava um grupo de homens e mulheres ajoelhados, a chorar.
- Que raio? - resmungou O'Hara.
- O clube de fãs dela, imagino - disse Hebron.
Uma mulher grande, vestida de bombazina preta, viu-os e deu um grito. Pôs-se laboriosamente de pé, agarrando o peito com as mãos.
9
- Eli Hebron - gritou. - É Eli Hebron. Oh, meu Deus, meu Deus!
Os outros levantaram-se de um salto e correram para Hebron, de garras estendidas. Uma tripulação pirata: vários agitadores com caras rudes, matronas desanimadas,
alguns jovens frenéticos com malas Oxford. A chorar, a gritar.
Alguns caíram de joelhos à frente dele, a puxar-lhe as calças, a arrancar-lhe o casaco. Ou, simplesmente, a tocar-lhe com as mãos, a puxá-lo. Sentia um terrível desejo de se render, de se deixar arrastar e rasgar.
Outros tentavam agarrar as flores. O'Hara recuou, mas eles rodearam-no. As flores ficaram em pedaços e o raminho de Taki esmagado. Rosas e malmequeres eram arrancados,
escondidos furtivamente como recordações, espalhados na relva, ou beijados e atirados para a campa de Grace Darling.
Até Barney O'Hara, a rugir de fúria, se pôs a frente dele, e começou a usar o cesto de vime como cacete.
- Seus lambe-botas! - berrou.
Afastou-os para trás. Agarrou no braço de Eli Hebron, libertando-o. Correram para o carro, deixando os fãs a disputar pétalas e pedúnculos. Ouviram os gritos enquanto se afastavam.
Demasiado amor, demasiada saudade. Sentiu-se poluído por aquele fervor húmido. Disse a
O'Hara para guiar de volta a Beverly Hills, em vez ir para o estúdio. Em Summit Drive viram Pickfair, um castelo nas nuvens. Viam-se jardineiros a trabalhar, com chapéus de palha chineses.
Uma mulher, envolta em véus de chiffon, atravessou o
terraço como uma sombra.
- A Pickford está a trabalhar? - perguntou a Barney O'Hara, que sabia tudo.
- Está a fazer a promoção do My Best Girl - disse o motorista.
- Viu Sparrows, Sr. Hebron?
- Não. Deveria ter visto?
-Não - disse O'Hara, e Eli Hebron franziu o sobrolho. A afluência de público era baixa. Os lucros eram baixos.
- E a rádio - disse O'Hara, observando a reacção dele. - Está toda a gente em casa a ouvir os AP Gypsies.
Hebron não respondeu. O'Hara virou para a entrada de carros em curva, até ao pórtico. Quando a mulher dele era viva, esta casa chamava-se Paraíso. Agora, era apenas um número na Alameda Benedict Canyon.
- Meia hora - disse Hebron. - Quero mudar de roupa.
- Malditos lambe-botas! - resmungou Barney.
A Sr.8 Birkin apareceu alvoroçada, mas ele fez-lhe sinal para se ir embora. Subiu calmamente a bonita escada suspensa. A sua
10
mulher tinha morrido com convulsões no cimo daquela escada, e depois tinha caído até lá abaixo. Quando ele chegara ao pé dela, um fardo mole no chão de mármore, ela ainda tinha a máscara de noite cor de malva. Tinha-a retirado para olhar para os olhos dela. Pedras húmidas.
Tinha reproduzido aquela cena em Lost Love: Sofia suicida-se porque pensa que Armand foi morto no duelo. Engenhosos planos intercalados, terror crescente e suspense quando Sofia rola pelas escadas, enquanto Armand esporeia o cavalo em direcção à casa da sua amada. "Tão bom como tudo em Eisenstein", dissera a crítica do New York Times. Mas Marcus Annenberg nunca gostara daquele filme.
- Fez dinheiro - disse-lhe Eli Hebron. O velho fez o seu sorriso sombrio.
- Não o suficiente - disse.
Mas Grace Daríing não se tinha suicidado, claro. Não deliberadamente. Uma dose excessiva de medicamentos para suavizar a depressão que tivera depois de The New Cleopatra ter sido um desastre tal, que foi retirado de distribuição e metido na prateleira. Ela fizera Sylvia Janovic de Gary, Indiana. Depois DeMille viu o brilho, o perfil transparente. Ela brilhou em Old Country Girl, Susannah and the Elders, JesPlain Folks e On the River. Era assim que os fãs se lembravam dela. Eli Hebron lembrava-se de tirar a máscara de noite malva.
No quarto principal, vendo-se diminuir até ficar em nada nas paredes de frente espelhadas, despiu-se até ficar só com as ceroulas de malha de algodão e com a camisola interior. Lavou a cara, pescoço e braços com um toalhete humedecido em Lilás Vegetal, de E. Pinaud. Os armários, tão grandes que até lá se podia andar, continham cinquenta fatos, uma centena de pares de sapatos, incontáveis camisas feitas por medida, gravatas importadas, pullovers, chapéus. Fatos, não roupas.
Uma vez que o homem do banco de Boston estaria no estúdio nesse dia, vestiu uma camisa cinzenta com punhos brancos franceses engomados e um colarinho Hoover rígido, branco, amovível, com o nome do secretário do Comércio do presidente Coolidge. Vestiu um fato Norfolk de linho branco com botões de osso. "Elegante Hebron", tinha-lhe chamado uma vez Louella Parsons, mas tinham-lhe dito que, há um mês, na casa de banho dos homens do hotel Beverly Hills, tinham ouvido Charlie Royce chamar-lhe homossexual por usar sapatos de camurça.
Deixou-se ficar por ali um bocado antes de descer para o carro. Olhou para o quarto barroco, a desejar sentir tristeza mas sentindo apenas solidão. Lembrou-se das inúmeras vezes em que ela pusera
mAlways ChasingRainbows a tocar na vitrola e a vira dançar nua
11
pela sala com grandes gestos, em êxtase. A pequena Sylvia Janovic de Gary, Indiana, no seu quarto de vestir espelhado. Ela teve o primeiro bidé de Hollywood, e a
mulher do cônsul francês em São Francisco teve de lhe mostrar como usá-lo.
Uma mulher do povo, a sua mulher. A sua falecida mulher. Mas o seu espírito terra a terra fizera-lhe assentar os pés no chão. Agora, sentia-se flutuar. Anomia, chamava-lhe
o Dr. Irving Blick. Bebeu um gim forte antes de descer as escadas. Tinha um pacote de Sen-Sen na Hispano-Suiza. Foram de carro até ao estúdio.
A Magna Pictures fora constituída por Marcus Annenberg e Solomon Getz, em 1914. Tal como a maioria dos pioneiros do cinema, tinham estado, ao princípio, no negócio de roupas, em Nova Iorque. Um investimento anterior numa sala de cinema rudimentar levara à formação de uma unidade de produção, chamada Filmes Getz Annenberg. Em 1917, formaram uma subsidiária de distribuição, a Magna Filmes. A companhia mudou-se para a Califórnia em 1919.
Sol Getz morreu em 1921 (embateu mortalmente contra um bloco de gelo). Marcus Annenberg comprou a parte do sócio em 1923, depois de quase levar o negócio à bancarrota deliberadamente, para baixar o valor da herança da viúva. A companhia consolidou-se, então, sob o nome Magna Filmes, SÁ, e floresceu. A sua principal produção continuou a ser comédias musicais e westerns de uma e duas bobinas. Mas, sob a supervisão de Eli Hebron, a Magna começou a produzir mais e mais filmes - dramas, romances históricos, comédias sofisticadas, e, ocasionalmente, um épico bíblico.
Em 1927, a Magna produzia quase duzentos filmes por ano, incluindo trinta a quarenta longas metragens de seis bobinas. Ainda longe da Fox, da Paramount ou da First National, mas já uma produção muito respeitável. Além do mais, a Magna estava a alargar os seus negócios além-mar e a formar uma cadeia de cinemas da própria companhia nos Estados Unidos, para tirar partido das marcações simultâneas dos seus produtos.
Os estúdios da Magna Filmes Inc. ficavam em Sunset Boulevard e na Vine Street. Os edifícios principais estavam voltados para Sunset. Tinha doze hectares de terreno atrás. A Magna também possuía um rancho em Culver City, onde a maior parte dos seus filmes com cavalos selvagens eram filmados.
O complexo principal, rodeado por uma cerca de arame, era uma selva de edifícios de madeira: cenários de interior e exterior, laboratórios, bangalós dos escritores, divisórias para adereços e equipamento, cenários fixos e um refeitório comprido e baixo. O edifício da
12
administração tinha três pisos de altura, com varandas a todo o comprimento e escadarias exteriores.
Mac saiu da sua casinha para abrir o portão. Ouviram o rádio Atwater Kent a tocar Aint wegotfun? Era a orquestra de Jean Goldkette.
- bom dia, Sr. Hebron - disse Mac, inclinando a cabeça.
- Ouviste alguma coisa? - perguntou-lhe Barney.
- Acerca de Lindboig? Na. Esse já se foi. Se Deus quisesse que voássemos, tinha-nos dado asas.
- Tretas! - disse O'Hara.
Tiveram de esperar enquanto um tractor passava à frente deles. Puxava um atrelado aberto, carregado com soldados franceses ensanguentados. Dirigiam-se a um terreno onde estava a ser filmada a Batalha de Waterloo. Estava atrasado três dias e já ultrapassara o orçamento em dez mil dólares.
Hebron subiu ao escritório, acenando às pessoas que o cumprimentavam. Mildred Eljer, a secretária, pegou-lhe na pasta .
- Como é que se sente hoje, Sr. Hebron? - perguntou, preocupada.
- Bem - disse-lhe. - Sinto-me bem.
- Tem fome, Sr. Hebron? Posso mandar vir presunto e ovos. Uma sanduíche?
- Não, obrigado-sorriu para ela. - Como é que está a tua mãe?
- Melhor, Sr. Hebron.
- Óptimo - disse ele, tocando-lhe no ombro ossudo. - Ainda bem. Qualquer coisa... diz.
O seu escritório era todo em carvalho dourado e pele. As paredes estavam cobertas de fotografias autografadas de estrelas da Magna e outras. Colman, Vilma Banky, Fairbanks, Horton, Harry Langdon, Ramon Novarro. Uma foto de Griffith a segurar firmemente a mandíbula de um crocodilo, e a sorrir para a câmara. Keaton, Valentino, Marion Davies, Swanson, Francis X. Bushman. Um cartaz de George Mèlies de A Trip to the Moon, que mostrava um foguete a bater no olho do homem na Lua, fazendo-o chorar. Emil Jannings, May McAvoy. Buli Montana. Mais...
Na sua secretária estava uma lista das pessoas que tinham ligado. Deu-lhe uma olhadela, afastou-a. Viu de relance uma pilha de revistas novas: Digest Literário,
Liberty, Vanity Fair. Pegou na American Mercury e folheou-a, à procura da secção "Americana". Leu alguns dos artigos, a sorrir, enquanto se encaminhava para as janelas. Tinham vista para o pátio.
Fechou a revista e olhou para baixo. Três cowboys estavam a
13
namoriscar com uma freira, a rir e a dar-lhe pequenos empurrões nas costas. Um homem levava um bode vestido com uma cartola e um fraque. Uma companhia de dançarinas de harém seguia em fila para o refeitório. O general Robert E. Lee tirou o chapéu e cuspiu para o pó. Três homens arrastavam uma boneca cheia de luzes. Um mecânico estava ocupado com um Modelo T alterado, que podia partir-se em dois, cada um dos lados com motor. Moses tagarelava com índios iroquois, e um mosqueteiro francês fazia um duelo com um legionário romano. Um elefante pintado de branco estava a ser levado em direcção ao palco exterior quatro. Bea Winks saiu do barracão dos adereços, com um braçado de sombrinhas de renda.
Eli Hebron olhou para esta actividade e lembrou-se das memórias de Chaplin dos dias passados, quando "tudo o que era preciso para fazer um filme era ir para um parque com uma escada, um balde de cal e Mabel Normand".
Depois viu Charlie Royce e Franklin Pierce Archer, o homem do banco de Boston, a dirigirem-se apressada e determinadamente para o estúdio exterior um. Royce olhava
para o outro, a falar rapidamente e a gesticular. Archer, um homem alto e magro e de ombros descaídos, ouvia atentamente, assentindo. Os dois homens eram muito parecidos:
vestiam pesados e escuros fatos completos de cheviote. Correntes de relógio e sapatos altos. Vestidos, pensou Hebron, para um filme de ianques sovinas.
Deprimido, voltou para a secretária e chamou Mildred pelo dictógrafo.
- Apanha-me o Abe Vogel, por favor - disse.
O agente estava à espera quando ele pegou no telefone um momento depois.
- bom dia, Sr. Hebron - disse Vogel.
- Faz-me rir, Abe.
- Há uma tipa que está mesmo bem no negócio - disse prontamente o agente. - Trabalha para a MGM de dia e para a Fox à noite.
- Não é má - Eli Hebron riu-se. - Então... ligaste. Que é que tens?
- Uma rapariga nova. Uma do tipo de Esther Ralston, mas morena. Pode dar uma vampe.
- Agora, não temos nada para uma vampe, Abe.
- Por favor, Sr. Hebron, veja-a. Não é bonita, mas tem alguma coisa. Acho que vai dar que falar. Alguma vez me enganei?
- Alice Cormack - disse Hebron.
- Isso foi o ano passado - protestou o agente. - Já me enganei este ano?
Hebron riu-se novamente.
14
- Está bem, Abe. Trá-la cá.
- Estarei aí dentro de uma hora - disse Vogel, contente. Muito obrigado, Sr. Hebron.
- Diz no portão para chamarem a Mildred; ela saberá onde estou.
A secretária bateu à porta e entrou.
- Estão à sua espera na sala de projecção, Sr. Hebron - disse. Ele assentiu, e quando ela fechou a porta ao sair, tomou dois dos
comprimidos cor de laranja que o Dr. Blick lhe prescrevera.
- Uma coisa nova - dissera Blick. - Para a ansiedade. Mais barato do que estender-se num canapé.
Hebron engoliu os comprimidos com um gole de gim de uma garrafa sem rótulo que guardava na gaveta da secretária. Depois, desceu a escadaria exterior e foi para a sala de projecção.
Estava cheia; havia assistentes sentados no chão. Mas tinham deixado três cadeiras vazias na fila de trás, pois sabiam que ele não queria estar no meio dos outros. Sentou-se no centro e acendeu um cigarro. Depois disso, os outros acenderam cigarros.
- Tudo pronto, Sr. Hebron? - perguntou nervosamente Tony Carmichael. Era o realizador.
Hebron assentiu. Carmichael gritou "Passe-o!" para o homem que estava na cabina de projecção. As luzes apagaram-se. O primeiro quadro apareceu no ecrã branco. O fumo dos cigarros fazia sombras espiraladas.
Eram primeiras cópias: pedaços de filme que haviam sido filmados na tarde anterior. A batalha de Waterloo. Os planos gerais e médios tinham sido feitos previamente; estes eram grandes planos. Couraceiros franceses lutavam com soldados da cavalaria britânicos. Um duelo de baioneta. Homens a cair. Um cavalo a tropeçar num arame esticado no chão, um soldado de cavalaria a dar uma queda e a rebolar. Um golpe de sabre. Um general apoplético a disparar ordens. Canhões a disparar. Fumo de mosquetes. Homens a agarrar o peito e a cair.
Carmichael era competente. Sabia como lidar com multidões, e prevenia-se fazendo planos de frente, de trás, de lado e a três quartos da mesma cena. E o seu operador de câmara era Harry Wallman que, quando estava sóbrio, era tão bom como Billy Bitzer ou Hal Mohr. Não cortava cabeças nem pés. Tudo estava focado. As imagens faziam sentido.
O ecrã tremeluziu e ficou branco. As luzes acenderam-se novamente. Toda a gente olhou para Hebron. Ele acendeu um cigarro. Depois, todos acenderam cigarros. Fumou lentamente, tamborilando os dedos de uma mão em cima do joelho. Eles conheciam os sinais e ficaram tensos. Voltou a cabeça para olhar de frente para
15
Tony Carmichael. Era mais fácil dizer a um homem que não tinha talento nenhum do que dizer-lhe que era competente e nada mais.
Na vida, e no palco, uma porta abre-se, e um homem entra, a caminhar na nossa direcção. Mas uma câmara de filmar podia mostrar isso, e as costas do homem a passar pela porta aberta. Era essa a essência da cinematografia.
Eram muitos os realizadores e operadores de câmara que ficavam impressionados com essa essência e nunca conseguiam transpô-la. Ou não conseguiam ir além da maravilha das imagens em movimento. Quando os filmes começaram a ser exibidos em salas de diversões, as audiências fugiam precipitadamente dos cinemas, aterrorizados com as ondas que iam na direcção deles ou com uma locomotiva que corria velozmente para os seus colos. Mas isso fora há vinte e cinco anos. O movimento já não era suficiente. As costas de um homem a transpor uma porta já não eram suficientes. Truques de câmara.
- O que temos aqui - disse Eli Hebron a Tony Carmichael, e a todos eles - são imagens utilizáveis. Imagens profissionais. Mas não há uma imagem significativa no love. Nada que não tenha já sido feito cem vezes. Nada que toda a gente saia do cinema e se lembre até morrer. Alguém aqui sabe estenografia?
Um rapariga de cabelo ondulado levantou a mão.
- Eu sei, Sr. Hebron.
- Qual é o teu nome, querida?
- Doris Bergman. Sou a guionista do Sr. Carmichael.
- Bergman - disse ele. - Alguma relação com Sam Bergman?
- É meu pai, Sr. Hebron.
- Conheço-o. Um bom editor. Gostava de ter dinheiro para o contratar.
Riram-se, aliviados.
- Tens um lápis e um bloco, Doris?
- Tenho, sim, Sr. Hebron.
- Óptimo. Toma nota disto. Isto é o que eu quero. Um soldado morto, com a cara na lama. A câmara na sua cabeça sangrenta. Movimento de câmara lento pelo pescoço, ombro, ao longo do seu braço estendido. A pouca distância do seu dedo esticado está uma pequena flor branca. Enquadra isso num arco-íris. Harry Wallman?
- Aqui, Sr. Hebron.
- Consegues fazer isto, Harry?
- Claro, Sr. Hebron. Aproximar gradualmente dos dedos estendidos e da flor e fixar?
- Correcto. Dois: Um soldado ferido: sangrento. A cara suja. Arenosa. Ponham-lhe óleo na cara e espalhem areia sobre ela. Plano das pernas dele. Não tem pernas. Vemos isso perfeitamente. Sabemos
16
que está a morrer. Plano dos olhos. Por cima dele, uma borboleta branca esvoaceia. Grande plano da cara dele. Os seus olhos seguem aquela borboleta.
- Como é que vamos conseguir a borboleta, Sr. Hebron? - perguntou Tony Carmichael, em desespero.
- Não sei. Pergunta ao Michaldo, da Técnica.
- Podíamos pintá-la no negativo - disse Harry Wallman. Algumas imagens. Não ficaria muito caro.
- Não me interessa quanto custa - disse Hebron -, quero assim. Olhos a observar a borboleta com ardor. Três: um soldado inglês e um soldado francês perto um do outro. Ambos mortos. Mataram-se um ao outro. Quase abraçados. Compreende? Quatro: um cavalo morto de costas. Pernas esticadas. Levantadas para o céu.
-Podemos fazer isso-disse, entusiasticamente, Stam Haggard. Era o assistente do realizador. - Quatro patas rígidas delineadas contra um céu límpido. Talvez enquadradas por árvores nuas, desfolhadas pelos disparos. Apanham-se as verticais. Arranjamos um cavalo morto no matadouro.
- Ou mata-se um -disse. Hebron.-Mas as pernas têm de estar rígidas. Cinco: um oficial morto, encostado a uma árvore. Um oficial idoso. Talvez um general. Papéis espalhados à sua volta. Uma miniatura pintada da mulher e dos filhos. Percebemos que é a sua família. Mas no colo está a segurar... o quê? Nas suas mãos mortas segura um medalhão aberto. Aproximação da câmara. Uma mulher jovem e bonita, de cabelo comprido. Quem é ela? A filha? A mulher quando era nova? A amante? Não dizemos. Não
sabemos. Deixem que os espectadores fiquem curiosos. É isso que queremos: curiosidade e imagens que nunca se esquecem. É isso. Obrigado.
Enquanto saíam, a falar entusiasticamente, chamou Tony Carmichael ao lado.
- Acaba hoje - sorriu -, ou estás despedido, e faço eu a montagem sozinho.
- Sim, Sr. Hebron - disse o realizador, com desalento no rosto.
- Óptimo - disse Hebron, dando-lhe uma palmadinha no ombro. - Podes fazer a tua festa amanhã à noite.
Entrou pela porta exterior do escritório. Abe Vogel pôs-se de pé, de um salto. Hebron não olhou para a rapariga.
- Daqui a um minuto, Abe - disse, acenando com a mão.
No escritório, beberricou um pequeno copo de gim. Sentou-se com os olhos fechados. Tentou pensar num mar calmo.
- Quando vierem esses ataques - dissera o Dr. Irving Blick-, tente concentrar-se em imagens de serenidade. Um mar
17
calmo. Nuvens a passar. Coisas calmas como estas. Talvez um pássaro a voar.
Mas viu as quatro patas esticadas de um cavalo morto, enquadrado em árvores nuas.
- Manda entrar o Vogel agora, por favor - disse a Mildred, pelo dictógrafo.
A rapariga entrou à frente do agente. Pequena, esbelta, com um chapéu justo, vermelho, sobre o cabelo escuro e curto. Como Vogel dissera, não era bonita. Notava-se-lhe o desejo no rosto, latente. Uma ânsia assustadora.
- Sr. Hebron, apresento-lhe Gladys Potts. O nome pode ser mudado, é claro.
Mandou-os sentar. Abriu as cortinas para que o sol brilhante da Califórnia caísse cruelmente sobre a cara de Gladys Potts. Ela piscou os olhos, mas ergueu o queixo.
- Que idade tem, menina Potts?
- Dezoito, Sr. Hebron.
- Que experiências já teve?
- Bem... eu...
- Em Nova Jérsia - disse rapidamente Abe Vogel. - Hackensack, Hohokus... e assim. Peças da faculdade. Algumas horas de trabalhos menores desde que chegou. Não tentes enganar o Sr. Hebron, queridinha.
- Eu não ia... - começou ela, furiosa.
- Claro que não ia - Eli Hebron sorriu. - Eu compreendo. Por que é que quer fazer filmes?
- Não quero ser criada - disse a rapariga, erguendo novamente o queixo. - Quero ser rica.
Hebron assentiu, olhando fixamente para ela. Abriu a gaveta de cima da secretária. Rasgou uma folha de um bloco de rascunhos.
- O homem que ama foi para a guerra - disse a Gladys Potts.
- Esta folha é um telegrama a dizer que ele foi morto em acção. Quero que leia o telegrama, assimile o seu conteúdo e reaja à notícia.
- Quer que fique de pé, Sr. Hebron?
- Levante-se, sente-se, como quiser.
Ela levantou-se, tirou o chapéu, soltou o cabelo sedoso. Vestia um vestido de cintura descaída de crepe da china marfim, com uma faixa atada de lado. A bainha ficava dois centímetros acima dos joelhos.
- Estou pronta - disse.
Estendeu-lhe a folha de papel em branco. Ela pegou nela com um meio sorriso. "Leu-a" rapidamente, depois olhou para ele, com o sorriso a desaparecer gradualmente. Os seus olhos voltaram-se novamente para o "telegrama". Ficou a olhá-lo fixamente durante
18
muito tempo. A sua cara registou vazio, depois choque. Os seus dedos começaram a tremer. O papel esvoaçou para o chão. Os dedos dobrados subiram lentamente até aos dentes. Ela fixava o vazio. Depois a sua cabeça descaiu para trás. Pescoço esticado,coluna arqueada. O seu corpo ficou rígido. Balançou. Unhas cravadas no rosto.
- Muito bem, menina Potts - disse Eli Hebron. - Obrigado. Já chega. - Tocou no dictógrafo. - Mildred, importas-te de vir aqui, por favor? Traz o bloco.
A rapariga sentou-se novamente e cruzou as suas belas pernas. Pôs o chapéu. Esperaram em silêncio até a secretária entrar.
- Mildred - disse Eli Hebron -, esta é a menina Gladys Potts. Por favor, prepara um teste para esta tarde. Stan Haggard está nos terrenos. Nas filmagens de Waterloo. Quero que seja ele a realizá-lo. Pede à Bea Winks roupas e maquilhagem. Eu preparo a cena.
- O operador de câmara, Sr. Hebron? - perguntou Mildred Eljer.
- Aquele rapaz novo... como é que se chama? Fez a perseguição em My Husbands Wife.
- Ritchie Ingate - disse Mildred.
- Sim, é esse mesmo. Apanha-o, se estiver livre. Abe, tens alguém mais idoso? Digamos, cinquenta, cinquenta e cinco, por aí? De aspecto estrangeiro. Um galanteador. Um homem com roupas elegantes.
- Conheço o homem perfeito, Sr. Hebron. Auto-intitula-se barão Von Stumpf. Usa monóculo.
- Óptimo. Vinte para ele, para o teste. Certo?
- Certo, Sr. Hebron. Quer o monóculo?
- Por que não? E um jaquetão. Ou um fraque. Algo formal e luxuoso. Uma cartola, se ele tiver. Se não, podemos fornecer-lha. Trá-lo cá o mais cedo possível. Vamos preparar isto para as quatro ou cinco da tarde.
- Obrigada, Sr, Hebron - disse Gladys Potts.
- Faça figas! - sorriu para ela. -Às vezes, a câmara faz coisas engraçadas.
- O almoço, Sr. Hebron - lembrou Mildred.
- Sim - disse ele, desanimadamente. - O almoço...
A sala de jantar dos executivos não era de todo uma sala. Era um canto do refeitório, rodeado por uma divisória de madeira à altura da cintura. As pessoas de dinheiro podiam almoçar dentro do cerco, mais os supervisores e os realizadores. Mas não os actores, operadores de câmara, ou editores, a não ser com convite especial. Lá fora,
19
em mesas próximas da divisória, figurantes e actores secundários amontoavam-se, exibindo os seus perfis para os executivos, com gestos largos, a rir alto. Nunca ajudava.
Nessa tarde, 21 de Maio de 1927, a mesa comprida era presidida por Marcus Annenberg. Um homem com cara de rã. Atarracado. Olhos velados. Usava chinelos com desenhos. Manchas de fígado nas costas das mãos inchadas. Tinha sobrevivido a um derrame cerebral grave; por vezes, babava-se ligeiramente. Era tio de Eli Hebron.
(Em 1919, acontecera uma coisa importante a Marcus Annenberg. Tinha assistido a uma exibição de Broken Blossoms, de Griffith. Tinha visto uma medrosa Lillian Gish a encolher-se de medo perante um brutal Donald Crisp. A legenda dizia: "Por favor, não me bata, papá." Esta combinação da imagem visual e da imagem impressa tinham excitado Marcus Annenberg, um homem com um casamento feliz, pai e avô.
Alguns dias mais tarde, foi a uma dispendiosa casa de passe no Wilshire Boulevard. Ali, contratou uma criança chinesa, a primeira de muitas. Bateu-lhe com uma vara de bambu enquanto ela, ensaiada, dizia: "Pol favol, não me bata papá." Depois do derrame, Annenberg prosseguiu com as sua visitas semanais, apesar de a casa de passe não ficar em Beverly Hills, e de as chineses terem de ser instruídas para não rir com as frouxas vergastadas do furioso velho.)
Nesse dia, os pratos de fruta fresca e requeijão estavam servidos. Havia Nehi, Moxie e coca-cola, bem como café e chá. As empregadas eram mulheres de alguma idade, cuidadosamente seleccionadas, simples e sem ambições cinematográficas.
Eli Hebron estava sentado ao lado de Franklin Pierce Archer.
- Está a gostar da sua visita à Califórnia-perguntou ao bostoniano.
- Estou, Sr. Hebron. Na noite passada, no meu hotel, conheci um homem que me disse ser rancheiro. Tinha o aspecto de rancheiro: botas com esporas, roupas de cabedal, sombrero. Perguntei-lhe quantas cabeças de gado tinha, e ele respondeu-me que não criava gado; tinha um rancho de pereiras.
Hebron sorriu educadamente. Tal como a maioria dos californianos, estava habituado ao desdém dos do leste. Era mais fácil de aceitar, quando se sabia a facilidade com que os actores e os escritores ultrapassavam o seu desprezo para apanhar os inflacionados salários que Hollywood pagava e a avidez com que os bancos do Oeste procuravam ganhar o controlo da altamente lucrativa indústria de filmes.
- Têm tratado bem de si aqui, Sr. Archer?
- Oh, sim, obrigado. Charlie Royce tem andado a mostrar-me a cidade.
20
- Óptimo - disse Hebron. -Ainda bem. Há alguém especial em Hollywood que gostasse de conhecer?
- Bem... hum... - disse Archer, com o rosto a ensombrar-se. Inclinou a cabeça. - Não era necessariamente conhecer. A minha mulher, ela gostava de... - A sua voz sumiu-se.
- De quê, Sr. Archer?
- Do autógrafo de William Powell - disse o altivo homem, com sofrimento. -Algumas palavras. O nome da minha mulher é Betty. Betty Archer. Algo pessoal, para mostrar aos amigos. Acha que...
- É claro - disse Hebron, com ar sério. - Tenho muito prazer em arranjar-lho.
O bostoniano voltou-se, quase irritado. Começou a falar com Ben Stutrgart, que estava do outro lado. Stutrgart superviosionava as pequenas comédias da Magna, rodando-as a uma média de uma por semana. Era um graduado de Keystone Kops, tão gordo como Arbuckle. Como a maioria dos comediantes do cinema, era um homem taciturno e amargo. Mas ninguém duvidava do seu talento. Foi o primeiro realizador de Hollywood a ver as possibilidades cómicas das técnicas de filmagem: acção filmada em frente de um ecrã que mostrava outro filme. Assim, os seus filmes de uma e duas bobinas estavam cheios de cowboys-palhaços, a cavalgar burros aos pinotes pelo céu e polícias
em carritos a balouçar no oceano.
À direita de Ben Stutrgat sentava-se Meyer Levine, encarregue da distribuição no estrangeiro. Do outro lado da mesa, do lado de Levine, estava Al Klinger, que dirigia
os cinemas que pertenciam à Magna, nos Estados Unidos. Ao lado de Klinger estava Phil Nolan, um supervisor. Produzia curtas-metragens sobre a natureza e sobre viagens, com títulos como OurFriends, the Bees e A Visit to the Holy Land. Julius K. Felder estava ao lado de Nolan. Felder era o tesoureiro da Magna Filmes SÁ e ocupava-se do orçamento e planeamentos de prazos. À direita de Felder, exactamente à frente de Eli Hebron e sentado à esquerda de Marcus Annenberg, estava o supervisor Charlie Royce.
Royce produzia os westerns da Magna e um número cada vez maior de filmes série B. Eram filmes de baixo orçamento com actores de segundo escalão e acompanhamentos musicais limitados. Royce fora um propagandista superior do circuito Chautauqua, que se interessava pela fotografia. Começou em Hollywood como assistente de operador de câmara, subiu a realizador e depois a supervisor, tudo isso em quatro anos. Os seus filmes caracterizavam-se por planos rápidos, poucas legendas e uma preocupação quase enjoativa com os pormenores realistas. Dizia-se que numa exibição de um dos westerns de Royce, numa pequena cidade do Texas, um
21
cowboy levantou-se da plateia e esvaziou o seus seis tiros contra o ecrã, numa tentativa de ajudar um xerife cercado.
- E melhor fazermos a conversão, Sr. Annenberg - disse Charlie Royce, na sua voz áspera -, ou, então, dentro de um ano, terá erva a crescer no estúdio exterior um.
Disse isto suficientemente alto para os outros ouvirem. Os homens pararam de comer, pousaram os garfos. Voltaram-se para o cabeceira da mesa. Marcus Annenberg inclinou-se por cima do prato de salada, levando lentamente pequenos pedaços de requeijão à boca.
- Por que é que dizes isso, Charlie? - perguntou, indulgentemente. - O som não é novo. Já tem vinte anos.
- Eu sei, Sr. Annenberg. O Edison experimentou-o. Mas ele não tinha amplificadores. Agora, o som pode encher a casa. A sincronização com o filme é melhor. A Warner está a pôr muito dinheiro no Vitaphone. O Jazz Singer está na montagem final. Para sair este ano. Não é todo som. Não tem diálogo. Mas o Jolson canta, Sr. Annenberg, ele canta! Acha que os filmes vão continuar a ser a mesma coisa?
- Queres canções nos teus westerns, Charlie? - O velhote olhou de soslaio.
- Tiros, Sr. Annenberg - gritou Royce. - As batidas dos cascos dos cavalos. Gritos dos índios. Seria possível ouvir o som dos rápidos num rio e os clarins da cavalaria. Meu Deus!
Annenberg afastou o prato, em que mal tocara. Recostou-se calmamente. Entrelaçou os dedos em cima da barriga. Chupou os dentes, a olhar fixamente para Charlie Royce. Depois, os olhos de basalto voltaram-se para Julius K. Felder.
- Julie - disse Annenberg -, que achas deste som?
- Muito dispendioso, Sr. Annenberg - disse o tesoureiro, nervoso. - Ninguém sabe quanto, mas é muito. Neste momento, com o que temos orçamentado para novas casas e serviço exterior, acho melhor esperar um ano. Dois anos, talvez. Deixe que a Warner corra o risco. Veja o que acontece. Seja conservador. Se correr bem, estamos sempre a tempo de aderir.
Annenberg assentiu.
- Phil? - perguntou ao supervisor.
- Para mim, não faria assim tanta diferença - disse Nolan. Claro que podia usar a narração mas, quanto a sons especiais, que é que eu podia fazer? Viaja-se por um deserto ou montanha... que sons é que temos? Temos pegadas de lobos que correm na neve. Que sons temos? Quero dizer, não acho que seja tão importante. Uma novidade.
- Al?
22
- Sr. Annenberg, com o que custaria equipar as casas, nem quero pensar - disse Klinger. - Vitrolas e amplificadores não custam barato. E ainda ensinar o meu pessoal a utilizá-los. Não estou só a falar no final da produção. Só nas casas... uma fortuna!
Annenberg continuava sentado, a assentir, com as pálpebras pesadas quase fechadas. A sua cara estava profundamente enrugada. Dez anos antes, na última festa de Hollywood a que tinha assistido, um baile de fantasia, tinha-se vestido de Nero, coroado com uma coroa de louros. Tinha ganho o primeiro prémio.
Agora, a sua cara com papada pendente, voltou-se devagar para o outro lado da mesa.
- Meyer? - disse.
- Daria cabo de nós lá fora, Sr. Annenberg - disse Levine, furioso. - Teríamos actores a falar. Em inglês! Ou a cantar. Em inglês! Que é que isso significa em França, na Alemanha, na índia, na China, etc.? De que é que vale os actores falarem? Lá se vai o mercado estrangeiro. É o que eu acho.
Nenhum deles estava a comer. Em volta deles ouvia-se o alvoroço do refeitório: risos, conversas em voz alta, gritos, barulho de pratos e talheres. Mas estavam só a olhar para Marcus Annengerg.
- Ben? - disse ele. - Queres som?
- Claro - disse prontamente Stutrgart. - Dava-me jeito. Sons engraçados. Uma tarte na cara. Um tipo a cair num poço. Um balão a rebentar. Explosões. Uma perseguição. Coisas desse tipo. Como o que o pianista faz agora no seu piano ou órgão, mas melhor. Quanto a diálogo... na... Quem é que precisa disso? É tudo acção. Comediantes não precisam de falar. Mas podia usar sons.
A cabeça de Annenberg voltou-se.
- Por favor, dispense-me desta conversa - disse Franklin Pierce Archer. Sorriso triste. - Não sei nada acerca disso. Mas garanto-lhe que acho muito interessante. - Voltou-se repentinamente para a esquerda. - Gostaria de ouvir a sua opinião, Sr. Hebron.
- Bem - disse calmamente Hebron, a olhar para Charlie Royce.
- Acho que podemos estar a falar de muitas coisas diferentes aqui. Não tenho objecções a música de fundo gravada sincronizada. Música expressiva, tocada por boas
orquestras, bons artistas. Para substituir o pianista. Posso entender isto. E os sons especiais de que o Ben e o Charlie estavam a falar. Disparos, explosões, clarins
e assim. Ajudaria, não há dúvida. Estamos a falar de sons. Eu concordo com isso. Mas quanto a diálogo... actores a falar....
Continuou a olhar para Royce. Mas o supervisor tinha baixado a cabeça, estava a comer atarefadamente, baixando o garfo para a salada com rapidez.
23
Diálogo - repetiu Hebron. - Assim voltamos directamente
para o teatro. Passámos vinte anos a tentar sair do palco e voltamos para lá. Movimento. Imagens em movimento. Como é que os actores poderiam mover-se? Estão presos ao microfone. A passear num campo de flores. Como é que apanhariam as vozes deles? Até mesmo a andar por um estúdio. A passar por uma porta. Num barco, num comboio, e assim. Onde é que está o microfone? Portanto, voltamos ao palco, petrificados. Perspectiva frontal, apenas. Actores amontoados em volta de um microfone. É isso que o público quer? Ver um filme de uma peça de teatro num palco? Não me parece.
Nessa altura, Hebron olhou para baixo, para o seu próprio prato. Os seus longos e pálidos dedos apanharam as migalhas da toalha.
- Mas mesmo - disse em voz baixa -, mesmo que esses... esses problemas mecânicos pudessem ser resolvidos... supondo que sim, será que isso ajudaria os filmes? Actores a falar? Será que isso venderia mais bilhetes? Não me parece. Pois, que é que nós estamos a vender? Estamos a vender sonhos. Não me interessa se é o comediante de Ben a cavalgar por uma montanha, as cenas dos Alpes do Phil, ou as lutas de índios do Charlie. Ou as minhas cena de amor. Vendemos sonhos. Não é realidade; sabemos isso. Detroit produz Modelos T, e nós produzimos sonhos. E acrescentar diálogos aproxima o público da realidade. Reduz os sonhos. Transforma-os na vida do dia-a-dia. Quer mesmo filmar a vida do dia-a-dia, tio Marc? E isso que os nossos clientes pagam para esquecer. E actores que falam seria exactamente como a vida quotidiana. Quem precisa disso? Quem quer isso?
Até Charlie Royce levantou a cabeça para olhar para ele com surpresa. Ninguém discutia a filosofia dos filmes em Hollywood. Estavam demasiado ocupados a tratar da produção. Em França, onde tinham formado sociedades de filmes, intelectualizavam o cinema. Mas os franceses intelectualizavam tudo. Na Rússia, Eisenstein, Pudovkin e outros debatiam teorias de cinematografia, mas isso era porque tinham pouca película em stock - não chegava para fazer filmes, portanto, falavam acerca deles. Mas em Hollywood, a pressão da produção era demasiado intensa para teorias e debates. Imaginá-lo, filmá-lo, pô-lo em exibição.
- Sonhos - murmurou Eli Hebron. - É isso que vendemos. As mulheres e homens mais bonitos do mundo. Deuses e deusas. Vestidos com roupas que ninguém na assistência pode comprar. Em ambientes de tal magnificência que só podem sonhar. É outro mundo. Em que gente bonita ama e ri, sofre e triunfa. Anima-os. Durante algumas horas.
Fá-los esquecer os seus problemas e derrotas. Fuga. É isso que vendemos. Mas, no momento em que os actores começarem a falar, a ilusão é destruída. Transformam-se
nas
24
pessoas da porta ao lado. Quem é que quer pagar cinquenta cêntimos para ver um filme acerca dos vizinhos? A magia perde-se. E nós...
- Diga isso aos Fuzileiros! - gritou Charlie Royce, com uma expressão furiosa. - Por que é que pensa que a afluência de público diminuiu? Porque as pessoas estão em casa a ouvir rádio. A ouvir! É claro, são apenas vozes, apenas sons, mas é grátis! E não pensem que eles não se evadem apenas a ouvir só com sons. E um actor também fala no palco. Continua a ser Hamlet, não continua? Continua a ser um sonho. Eu não fui para a faculdade como você, Eli, mas acho que as suas ideias são absurdas. As legendas só servem para cortar a acção. Se os actores pudessem falar, podia explicar-se as coisas maçadoras em algumas palavras e concentrarmo-nos em acção rápida e realista para contar a história. Sonhos, uma merda... por favor, desculpe a linguagem, Sr. Annenberg. Vendemos entretenimento, só isso. Estamos a competir com o palco, com os espectáculos de variedades e com a rádio. Se lutamos contra o som, estamos a cavar a nossa própria sepultura. No mês passado, a Corporação de Rádio transmitiu imagens e som de Washington a Nova Iorque. Que é que fazemos quando isso for aperfeiçoado? Ouvimos, Sr. Annenberg. Eu digo que nos convertamos ao som o mais depressa que pudermos ou estamos arrumados.
- Charlie - Eli Hebron suspirou -, nós não temos...
Mas, de repente, o refeitório entrou em tumulto. Gritos e guinchos. Risos e lágrimas. Homens e mulheres de pé, aos saltos, a abraçarem-se.
- Que foi? - perguntou Marcus Annengerb, espantado. - Que é que se passa aqui? Um terramoto?
Meyer Levine levantou-se da mesa, debruçou-se sobre o parapeito de madeira. Agarrou um histérico soldado da Confederação, abanou-o pelos ombros.
- O quê? - gritou. - Que foi?
- Ele conseguiu! - berrou o actor. - Conseguiu, conseguiu, conseguiu! Lindbergh! A rádio disse! Aterrou em Paris! Vivo! Conseguiu!
Ouviu-se na mesa dos executivos. Voltaram a acomodar-se nas cadeiras, a sorrir.
- Bem, bem, bem - disse Phil Nolan. - Isso é importante, se é!
- Vamos apanhá-lo - disse Charlie Royce, impacientemente.
- Fazemos contrato com ele. Que acha, Sr. Annenberg? Ele é jovem, bem-parecido. Vamos pô-lo sob contrato. A história do voo dele. Um sucesso absoluto!
O velhote pensou durante muito tempo. Estavam todos a olhar para ele.
- Quanto é que ele quererá? - perguntou, por fim.
25
. Cem, duzentos mil - disse Royce, asperamente. - Que interessa? Vai render cinquenta milhões. Chame-lhe O Espírito de Saint Louis. E esse o nome do avião dele.
Annenberg voltou-se para Hebron.
Eli - disse -, que é que achas?
Não vai consegui-lo por esse valor, tio Marc - disse Hebron.
A MGM ou a Paramount irão até meio milhão. Pelo menos. E
também, talvez, a RKO.
- Bem - disse Annengerg, pensativamente -, não custa nada tentar. Meyer, manda um telegrama ao teu pessoal de Paris. Começa em cinquenta mil. Que é que ele sabe, um aviador? Se for necessário, vai até duzentos mil. Nem mais um tostão.
- Sim, Sr. Annenberg - disse Meyer Levine. - vou mandá-lo imediatamente.
- E se não conseguirmos o próprio Lindberg? - perguntou Royce. - Ele não é o dono da história. Tenho um rapaz novo que é muito parecido com ele. Que vos parece? Um rapaz de uma cidade pequena. E doido por voar. Sempre à volta dos aviões... estão a ver? Está apaixonado por uma bonita vizinha. Ela ama-o também, mas os pais dela querem que ela case com um homem rico, mais velho e chato. Um advogado ou um médico... uma coisa do género. Então, o rapaz parte de avião para Paris, sozinho. Para se evidenciar perante os pais da rapariga... estão a ver? Ela dá-lhe o seu lenço para usar ao pescoço. Faz-lhe sanduíches... esse tipo de coisas. E, assim, vemo-lo a lutar contra tempestades, a sobrevoar o oceano. Suspense com fartura. Pô-los na beira das cadeiras! Ele consegue! Volta para casa como um herói. Fazem-lhe todo o tipo de ofertas de dinheiro. Mas ele recusa-as. Volta para a sua pequena cidade, casa com a rapariga, e abre uma pequena e bem sucedida companhia de transportes aéreos. Imagem final. Que acham?
- A mim parece-me bom - confirmou Marcus Annenberg. Limpo. Americano. Mas depressa, Charlie. Temos de o acabar depressa. Ontem.
-Vai ter o argumento na sua secretária esta tarde - disse Charlie, feliz.
O almoço acabou aí. Separaram-se, abriram caminho por entre a multidão do refeitório. As pessoas ainda riam, gritavam e apertavam as mãos. Apareceram garrafas de meio litro de gim clandestino.
Charlie Royce foi em passos rápidos até ao pátio, parou para acender um charuto. Timmy Ryan, chefe da segurança do estúdio, aproximou-se dele. Sorriram um para o outro. Royce deu ao chefe um White Owl.
- Boas novidades, Tim - disse o supervisor. - Um grande dia.
26
- É mesmo, Sr. Royce - disse Ryan. - Obrigado pelo charuto. vou
guarda-lo para o jantar... para depois de tirar as roupagens! Nunca pensei que ele conseguisse.
- Nem eu. Timmy, achas que ele é judeu?
- O Lindbergh? - disse Ryan. - Não faço ideia.
- É só curiosidade - disse Charlie Royce.
Mildred Eljer estava à sua espera no escritório exterior. Fazia-lhe sempre lembrar uma cegonha. Uma cegonha séria, com óculos.
- Não é maravilhoso aquilo do Lindbergh, Sr. Hebron? - disse ela.
- Sim - disse. - Maravilhoso! Ela olhou para o bloco.
- O estúdio interior dois está livre às cinco horas para o teste de Gladys Potts - informou. - Stan Haggard virá dos terrenos para dirigir. Consegui finalmente apanhar o Ritchie Ingata na Universal. Vai tentar chegar a horas, mas pode atrasar-se um pouco. Está bem, Sr. Hebron? . :
Ele assentiu.
- Eddie Durant quer saber que tipo de cenário quer, e é melhor falar com a Bea Winks acerca da maquilhagem e roupas. Muito importante, Bruno Schmidt ligou duas vezes e veio cá uma. Está com problemas.
- Que tipo de problemas?
- Margaret Gay. Não chora.
- Está bem - disse ele. - vou lá abaixo daqui a uns minutos. Liga para ele e diz-lhe que vou a caminho. Diz ao Eddie Durant que quero uma loja. Uma loja parisiense de há de vinte anos, mais ou menos. Que venda luvas de senhora, chapéus, perfumes. Coisas desse tipo. Um cenário simples. Balcão. Talvez uma ou duas cadeiras. Prateleiras nas paredes. Estou a falar muito depressa, Mildred?
- Não, Sr. Hebron - disse ela, escrevendo apressadamente. Estou a acompanhar.
- Diz ao Eddie para não fazer nada; que mobile com o que temos; é só um teste. Oh, sim... um espelho. Um espelho de corpo inteiro num suporte giratório. Como é que lhes chamam?
- Um tremo, Sr. Hebron?
- É isso? Bem, seja o que for, temos um em armazém. Oval. comprei-o para The Last Kiss. Está por aí, algures. Depois liga para a Bea Winks e diz-lhe que quero a Gladys Potts como uma empregada de comércio parisiense de há vinte anos. Saia comprida. Blusa leve. Que faça alguma coisa ao cabelo. E os olhos dela são demasiado
27
pequenos. Diz à Bea para os fazer maiores. Mais alguma coisa, Mildred?
- Só chamadas telefónicas, Sr. Hebron. Principalmente agentes. E aquela empresa imobiliária de Santa Mónica. Por causa do seu terreno na praia.
- Eles voltam a ligar.
- Comeu, Sr. Hebron? - perguntou ela, preocupada.
- Claro - ele sorriu. - Uma salada de requeijão. Deliciosa.
- Óptimo - disse ela, aprovadoramente.
Foi para o gabinete. Fechou e trancou a porta, correu as cortinas. Serviu-se de um pequeno gim. Deitou-se no sofá, pôs um braço por cima dos olhos. De vez em quando, levantava-se para beber um golo de gim.
Era a energia física de Charlie Royce que o assustava. Estava na Califórnia há oito anos, Royce há quatro. Fazia diferença. O cenário da Califórnia - calor, céu, mar, a vastidão clara e brilhante provocava uma baixa na vontade. O dinheiro alto contribuía. E a afluência dos mais bonitos rapazes e raparigas de todo o país para se tornarem estrelas. Mas era principalmente o sol quente, o céu alto, o mar murmurante. Uma terra de prazer indolente que desgastava a determinação e não deixava mais do que sonhos. Ainda não tinha enfraquecido Charlie Royce.
Acabou o gim. Lavou o copo no pequeno lavatório, não olhando para o espelho para se ver. Voltou a descer para o pátio, sem passar pelo escritório exterior, usando a porta envidraçada que dava directamente para a varanda.
Estavam a filmar a terceira versão em filme de Madame Bovary no estúdio interior um. Tinha uma previsão de seis semanas de filmagens e um orçamento de quatrocentos e cinquenta mil dólares. Estava a ser realizado por Bruno Schmidt. Ele era um dos muitos realizadores dos estúdios alemães UFA a serem atraídos para Hollywood. Todos eles gostavam de luzes de pouca intensidade, pensando criar mais um The Cabinet ofDr. Caligari.
Schmidt era um homem baixo, pouco mais alto que o seu megafone. Usava calças de montar e botas de cabedal altas. Nos estúdios exteriores usava um capacete de cortiça branco e andava com um chicote de montar, sempre a olhar para todos os lados, nervoso, à procura de cobras. Mas o seu primeiro filme para a Magna, Roses Are Red, uma comédia sofisticada, tinha sido um sucesso surpreendente. Ainda se falava de uma cena em Hollywood: A heroína vestida com um negligée, para escapar a um possível sedutor, desce pela varanda do hotel e, lentamente, quase amorosamente, desce por um grosso mastro. A cena foi ideia de Eli Hebron, mas ele não se importou de que Bruno Schmidt ficasse com os louros.
28
O director agarrou no braço de Hebron no momento em que ele entrou no estúdio um.
- Ela não chorra - lamentou-se o homem. - Ela não chorra!
- Está bem, Bruno - disse Hebron. - Eu trato disso. Vai lá para fora, fuma um cigarro, acalma-te.
Empurrou o realizador para a porta. Quando ele saiu, Hebron chamou o assistente do realizador com um gesto.
- Qual e a cena, Max?
É uma coisa pequena, Sr. Hebron. Emma vai abandonar o seu
bebé, e olha para baixo, para o berço. É tudo. O Schmidt quer um grande plano. Quer que a Gay chore, e ela não consegue. Ou não quer fazê-lo. Sete takes, e ainda não conseguimos. Está tudo iluminado. Eu tratei de pôr bastante luz como me disse.
- Certo, Max. Desliga as luzes e deixa toda a gente acalmar durante algum tempo. Onde está Gay?
- Ali, naquele canto, Sr. Hebron.
Margaret Gay era a estrela principal da Magna. Tinha contrato directamente com Eli Hebron. Era uma morena surpreendente, com grandes semelhanças com Norma Talmadge. Mas tinha uma expressão infeliz e melancólica que ficava lindamente em filme. Recebia cinquenta propostas de casamento por mês, por correio, de prospectores de petróleo do Oklahoma, xeques árabes e nobres húngaros. A revista Photoplay tinha prestado homenagem ao seu "encanto não estragado, inocente, despreocupado, fresco como uma manhã orvalhosa, que retira à cena de amor mais tórrida tudo o que possa ofender".
Estava sentada numa cadeira de lona, de costas para a câmara. Eli Hebron aproximou-se silenciosamente, debruçou-se para lhe beijar levemente a face. Ela olhou para cima.
- Eli - disse ela, com um sorriso triste e doce -, aquele maldito boche está a dar cabo de mim!
- Vá lá - disse ele, acariciando o ombro dela. - Vai correr tudo bem, querida. Faremos o que tu quiseres.
- Podes ter a certeza - disse ela. - Eli, ele quer que eu chore, e eu simplesmente não consigo.
- Podemos usar algumas gotas de glicerina, querida?
- Fingir-disse ela. - Eu tenho milhões de fãs por aí. Eles adoram a Margaret Gay, porque sabem que ela nunca finge. Sabem que ela lhes dá tudo de coração, honestamente e com sinceridade. Ela não pode fingir uma emoção, Eli. Margaret Gay não pode decepcionar os pequeninos.
Hebron fez um sinal. Trouxeram mais uma cadeira de lona e puseram-na em posição para ele se sentar. Sentou-se na beira, inclinou-se para a frente. Segurou as mãos dela nas suas e olhou
29
para ela com ar sério. Ela tinha vinte e três anos e estava a ganhar dez mil dólares por semana. No ano anterior, os filmes dela tinham rendido quase quinze milhões.
- Querida - disse -, tu já choraste. Tu sabes isso e eu também. Uma mulher que sente as coisas tão profundamente como tu... uma mulher sensível, uma mulher delicada...
já deve ter chorado muitas vezes.
Ela inclinou a cabeça para trás, fechou os olhos. Ele ficou a olhar para o perfil de camafeu, para a pele de porcelana.
- Oh, sim - disse ela, pensativamente. - Já chorei, Eli. Muitas, muitas vezes.
- Por que motivo, querida?
Ela abriu os olhos. Olhou para ele com aquele sorriso sobrenatural que punha os homens doidos.
- Choro sempre que oiço o Fascination - disse. - Estava a ouvir aquela maldita melodia na vitrola na primeira vez que dei uma queca, e cada vez que a oiço, choro.
Hebron assentiu. Levantou-se, fez novamente sinal ao assistente de realizador.
- Max - disse, em voz baixa -, estão a filmar a cena do salão de baile de Jazz Mothers no estúdio três. Têm uma orquestra figurante. Manda lá alguém para ver se algum daqueles figurantes sabe realmente tocar um instrumento musical. Piano, violino, flautim... não importa o que seja. Mas tem de saber tocar o Fascination. Descobre alguém; trá-Io para cá.
- É para já, Sr. Hebron.
Vinte minutos depois, Bruno Schmidt estava sentado na sua cadeira de realizador, ao lado da câmara. Margaret Gay estava debruçada sobre um berço de madeira, com a mão estendida para uma boneca de trapos escondida. Eli Hebron estava de pé, atrás das luzes.
- Take oito - anunciou o assistente.
- Acção! - gritou Bruno Schmidt, rudemente, pelo megafone. O assistente mostrou a ardósia à frente da objectiva, identificando o número da cena. Depois afastou-se.
Afastado, na obscuridade, um homem tristonho de bigode, vestido com um smoking apertado na cintura, começou a tocar Fascination no seu violino.
Margaret Gay debruçou-se sobre o berço a chorar.
A Travessa dos Escritores era uma rua com dez bangalós, construídos por detrás do refeitório. "Entre a lixeira e as casas de banho", comentavam invariavelmente os escritores recém-chegados.
Originalmente, cada bangaló fora equipado com duas secretárias,
30
duas cadeiras giratórias, duas máquinas de escrever, dois armários de arquivo. Ao longo dos anos, os escritores tinham tentado suavizar a austeridade das
suas celas. Os que eram contratados traziam fotografias, candeeiros, um cadeirão, por vezes um sofá, vitrola, livros, revistas, um pequeno rádio Crosley, etc. Os
escritores despedidos deixavam invariavelmente ficar esses pertences, determinados a esquecer a Magna Filmes, SÁ. e mudavam-se para ambientes mais confortáveis na
United Artists, MGM ou Universal.
O bangaló cinco era ocupado por Edwin K. Jenkins e Tina Rambaugh. Os dois escritores tinham contrato com Eli Hebron.
Jenkins era um ex-jornalista de Wichita, Kansas. Tinha chamado a atenção de Hebron quando publicara um conto na revista The American. Fora a primeira e última história publicada de Jenkins. Quase fora despedido quando Marcus Annenberg lhe pedira um esboço de guião para a Bíblia e Jenkins tinha apresentado: "Jesus chorou."
Tina Rambaugh tinha dezassete anos, e era uma rapariga simples e rechonchuda. Conseguira o emprego enviando regularmente argumentos para filmes a Eli Hebron. Nenhum
dos seus resumos de uma página tinha alguma vez sido comprado ou mesmo roubado, mas o supervisor ficara impressionado com a persistência da rapariga. Fora contratada para escrever legendas e tinha provado ter talento para diálogos sofisticados e subentendidos. O seu trabalho tinha, mais do que uma vez, despertado a atenção do gabinete Hays.
Todas as madeiras do bangaló cinco - secretárias, cadeiras, armários de arquivo, paredes - tinham um aspecto descascado e sujo. Via-se um cadeirão partido, com as molas expostas. Um grande cartão recortado de Theda Bara estava encostado à parede. Ao lado da secretária de Edwin K. Kenkins estava uma escarradeira de latão, usada como cesto de papéis. Por cima da secretária de Tina Rimbaugh, emoldurada na parede, estava a ampliação de uma legenda de Greed, de Erich von Stroheim. Era considerada por muitos como a legenda mais engraçada alguma vez escrita: "Vamos dar a volta e sentar-nos no cano de esgoto."
- Ed - disse Tina Rimbaugh, a olhar para a máquina de escrever -, tu sabes tudo sobre linguística e gramática correcta, não sabes?
- Não é o que eu costumo dizer? - disse ele, preguiçosamente.
- Preferes "No dia seguinte..." ou "No próximo dia..."? Ou significam os dois a mesma coisa?
- Depende.
- Que quer dizer isso... depende?
- Se a acção ocorre na segunda-feira, e a próxima cena na terça-feira, tanto pode ser "dia seguinte" como "próximo dia". Mas supõe
31
que tens uma grande cena diurna em que o herói e a heroína fazem amor. Talvez não se voltem a encontrar durante um mês. Nesse caso, poderias usar "no próximo dia" mas não "no dia seguinte...". Não percebo - disse ela.
- Eu também não - disse ele. - Faz alguma diferença?
- Calculo que não. vou usar "no dia seguinte...".
Dactilografou-a na folha de legenda, depois consultou o argumento em que estava a trabalhar. Jenkins folheava lentamente a edição corrente do Saturday Evening Post, à procura de um enredo para roubar.
- Encontraste alguma coisa? - perguntou-lhe ela.
- Uma boa da Clarence Budington Kelland - informou ele. Tem uma boa reviravolta no final. Mas passa-se num pântano.
- Muda para os estúdios da Magna Filmes - aconselhou ela. Ed, por que é que não escreves um original?
- Não me pagam o suficiente. Queres uma bebida?
- Não. Tu bebes de mais.
- E tu falas de mais.
- Há quanto tempo estás aqui, Ed? Seis anos?
- Exacto. Os melhores anos da minha vida.
- És mais um.
Matraqueou na máquina de escrever. Ele encheu um copo de água com gim puro de uma garrafa de meio litro, que guardava na última gaveta do seu arquivo. Acrescentou algumas pedras de gelo de um pequeno balde embrulhado em serapilheira que tinha por debaixo da secretária.
Era um homem alto e magro, com ar de fazendeiro, e vestia um enrugado fato de alpaca brilhante. Um caso infeliz de varíola na sua juventude deixara-lhe a cara marcada e esburacada. Tinha cabelo cor de areia com risco ao meio e penteado para trás. "Como Bix Beiderbecke", dizia frequentemente. "O meu herói."
- Como é que vai a novela? - perguntou Tina.
- Vai para o diabo! - disse ele.
Ela fez uma pausa, com os dedos nas teclas, a olhar para ele pensativamente.
- Já pensaste que não consegues escrever uma novela na Califórnia? - disse. - Alguma vez pensaste que é impossível, que ninguém consegue escrever uma novela na Califórnia?
- Estou impressionado - disse ele. - Por que não?
- Não é uma região de novelas. Não há tradição. Esta região é de contos.
- Bebo a isso - disse, e fez. - Gostaria agora de propor um brinde a Charles Augustus Lindbergh.
- Augustus? - disse ela. - É esse o seu nome do meio?
32
- Claro.
- Como é que sabes?
- Já fui jornalista. E dos bons.
- Já me disseste - disse ela. - Várias vezes.
- Estúpida! - disse ele. - Bem, tu és virgem. Eu preferia ser tudo menos virgem.
- Não é assim tão mau - disse ela, sem olhar para ele. - Tenho muito tempo.
- Esquece - disse ele. - Quem é que iria dar uma cambalhota contigo? - Depois, quando viu a cara dela, disse: - Jesus, Tina, desculpa. Que observação infeliz. Esquece o que eu disse. Por favor.
- Não faz mal - disse ela, fungando um pouco. - Só dizes coisas dessas porque és um frustrado e um miserável e precisas de te libertar hostilizando os outros.
- Obrigado, Dr. Freud - disse ele.
Ela riu-se, levantou-se da cadeira giratória, aproximou-se, e beijou a bochecha esburacada dele. Depois voltou para trás da máquina de escrever.
- És do melhor que há! - disse ele. - Fofinha.
- A tua lábia está ultrapassada - disse-lhe ela.
- Põe-te a esticar a corda que ainda arranjas problemas, gordaIhona.
Ela impeliu um ombro roliço na direcção dele, franziu os lábios vermelhos, correu os dedos pelo seu cabelo ondulado.
- Achas que eu podia ser uma beldade?
- Claro - disse ele. - Como eu podia dançar o tango com a Dagmar Godowsky. Olá, patrão. Veio ver se os escravos ainda estão acorrentados?
Eli Hebron deixou a porta de rede bater atrás de si. Ficou parado, com as mãos nas ancas, a olhar em volta do escritório.
- Estamos a tentar reproduzir a atmosfera do artista esfomeado no sótão - disse. Sentia-se em casa com os escritores.
- Estão a conseguir - assegurou-lhe Jenkins. - Puxe uma cadeira.
Hebron olhou para as molas expostas do cadeirão, depois empoleirou-se na beira da secretária de Tina Rambaugh.
- Em que é que estás a trabalhar, querida? - perguntou-lhe.
- Legendas para Down on the Farm, Sr. Hebron.
- Quando é que podes terminar?
- Esta tarde.
- Óptimo. Ed, que é que estás a fazer?
- Estou no gamanço - disse Jenkins. - Onde estaria Hollywood sem o Saturday Evening Post?
Hebron olhou para o copo que estava sobre a secretária.
33
- Que é isso? - perguntou.
- Água gelada - disse Jenkins.
Hebron debruçou-se, pegou no copo, bebeu um gole.
- bom - disse. - Melhor que aquele que o estúdio compra! Quem é o teu fornecedor?
- Aquele tipo a quem chamam Sammy - disse Jenkins. - Já o viu por aqui. Pequeno e gordo. Usa gabardina nos dias mais quentes. Dentro da gabardina tem cinquenta bolsos cosidos. Para garrafas de meio litro. Vende a todos nós, os peões.
- De onde é que vem o produto? - perguntou o supervisor.
- Importado - disse Jenkins. - De Long Beach.
- Bem, tem um sabor agradável - disse Hebron. Não devolveu o copo do escritor, e continuou a beberricar enquanto falava. Quero que vocês os dois me façam uma sinopse.
Tina Rambaugh levantou o olhar, interessada. Depois levantou-se, deu a volta e pôs-se atrás de Jenkins, e ficaram ambos de frente para o supervisor. Pôs as mãos nos ombros de Jenkins.
- Um tipo novo - disse Hebron. - Do tipo Keaton... mas mais caloroso. É casado ou tem uma namorada... é convosco. A rapariga é agradável, séria, sensível. O tipo tem um emprego, leiteiro ou coisa do género. Fixo, mas sem ganhar muito dinheiro. E chato.
- Crianças? - perguntou Tina Rambaugh. - Se forem casados? Hebron pensou por momentos.
- Não - disse, por fim. - Sem crianças. Elas roubam tudo. Ora, este tipo é um romântico. Está sempre a sonhar. Vamos chamar a isto O Amante de Sonho. É só um título
provisório. E mostramos os seus sonhos. Ele é um pirata, um magnata, um grande amante, um Lindbergh... todo o tipo de coisas. Compreendem? Não consegue suportar
a monotonia e o brando desespero da sua existência, portanto, tem estas fantasias. É Fairbanks, é Valentino. Mulheres bonitas lançam-se aos seus pés. Ele ama-as
e deixa-as.
- Problemas com o gabinete Hays - disse Jenkins.
- Não - disse Hebron -, acho que não. Porque vai ser óbvio que são apenas sonhos, não realidade. As sequências dos sonhos vão ser filmadas com uma lente difusora. Dará à imagem uma característica de sonho. A assistência vai entender que tudo se passa na cabeça dele.
- Eu percebo - disse Tina Rambaugh. - Os sonhos dele interferem com a sua carreira. Apanhei bem a ideia? Comete erros disparatados como entregar encomendas de leite nas portas erradas, porque está sempre a sonhar. Esquece-se de receber as contas, esquece-se de onde deixou o cavalo, e assim por diante.
- Claro - disse Jenkins. - Estou a perceber. Sempre com problemas porque está sempre a sonhar. Nos sonhos é forte e determinado.
34
Mata índios, um verdadeiro tom Mix. Mas na vida é Harry Langdon.
- Já perceberam a ideia - Hebron sorriu. - As cenas de vida real são filmadas em cenários monótonos. Do tipo... três paredes e uma mesa. Mas as cenas de sonho são deslumbrantes, palácios e haréns e vapores luxuosos e apartamentos dispendiosos em Manhattan. Coisas desse tipo.
- É uma comédia? - perguntou Jenkins.
- Bem, é e não é - disse Hebron. - De certa forma, é uma derrota expressa de forma cómica. Porque, percebem, no final, ele desiste dos seus sonhos e sujeita-se à realidade.
- Por que é que ele faz isso? - perguntou Tina Rambaugh.
- Não sei - disse o supervisor. - É um problema vosso. Mas que acham disto? Ele decide tornar um dos seus sonhos realidade. Conhece uma vampe e tenta fingir que é um xeque, como nos seus sonhos. Ela consegue seduzi-lo e deixa-o. Leva-lhe todo o dinheiro e ri-se dele. Por isso, ele volta para a sua agradável, séria e sensível mulher ou namorada. Fim. Que tal?
- Eu gosto, chefe - disse Jenkins. - Podia ser muito engraçado e também comovente. Toda â gente sonha. Eu acho que resultaria. Onde é que o roubou?
- Não sei - disse, Hebron, franzindo o sobrolho. - Tenho andado a pensar nisto há algum tempo. Não acredito que o tenha lido em algum lado; tive a ideia. Isto do Lindbergh...
- Então e que tal isto? - disse Tina Rambaugh, a olhar para Hebron. - Na cena final, quando percebe que tem de pôr de lado os sonhos e voltar à realidade, e caminha em direcção ao pôr do Sol com a sua boa e sensível mulher... por que é que não filmam também essa cena com a lente difusora? Assim, os espectadores ficam com a dúvida se essa solução é também um sonho.
- Jesus Cristo - disse Ed Jenkins, reclinando muito a cabeça para olhar para ela. - Que idade é que disseste que tens, miúda? Sessenta? Setenta?
- É uma possibilidade - assentiu Hebron. - Um fim muito irónico, Tina. Bem, dá-me esse fim como possível e também um outro alternativo.
- Quanto tempo temos? - perguntou a rapariga.
- Amanhã? - disse Hebron. - Amanhã ao fim do dia. É tempo suficiente?
- Vamos tê-lo - disse-lhe ela.
- Óptimo - disse Hebron. Deslizou da secretária, bebeu o resto do gim, e entregou o copo a Jenkins. - Se tiverem algumas ideias para o elenco, tenho muito gosto
em ouvi-las. O Keaton e o Langdon não entram. São demasiado caros. Vemo-nos amanhã.
35
Fez um aceno com a mão e partiu. A porta de rede bateu. Edwin Jenkins olhou para a porta. Baixou o olhar para o copo vazio que tinha na mão.
- Por que é que não representa o senhor o papel principal, chefe? disse, em voz baixa.
Tina Rambaugh baixou-se para beijar a bochecha esburacada novamente. A mão livre dele subiu pela perna gorda dela, por cima da meia. Os seus dedos apertaram a coxa nua, abaixo das cuecas.
- Um destes dias.... - disse, em voz abafada.
Edison fornecera o vocabulário, Griffith a gramática. Mas o estilo era responsabilidade do próprio supervisor ou realizador. E, frequentemente, do montador.
Um montador talentoso (editor do filme) podia fazer um realizador desajeitado parecer o Thomas Ince. Da mesma forma, um montador malevolente, por qualquer motivo pessoal, podia montar um disparate a partir de dez bobinas das mesmas cópias. Eli Hebron concedia a determinados editores da Magna grandes linhas de crédito. Sabia o que valiam.
Mais importante, gostava de editar. Trabalhava tão próximo dos editores quanto o seu tempo permitia, debruçando-se ambos sobre um visor duplo de manivela, a inspeccionar as cópias, vendo as imagens vezes sem conta para acrescentar, apagar, mudar a sequência das cenas ou, se necessário, mandar voltar a filmar cenas. Só quando ambos concordavam com a montagem final (por vezes, com a aprovação do realizador, outra vezes sem ela) é que montavam o negativo de forma igual, e faziam as cópias para distribuição.
A sala de montagem da Magna Filmes, Inc. ocupava um canto do edifício do laboratório. Não tinha nada de elegante: um recinto pequeno e confuso com mesas compridas de madeira, bancos, prateleiras por cima, enfeitadas com tiras, voltas, quilómetros de película. Latas de filmes amontoadas no chão. Avisos de NÃO FUMAR e baldes de areia por todo o lado.
A Magna tinha três editores sob contrato permanente. Contratavam gente só para um filme quando o planeamento o permitia.
O chefe de edição, Myron Mattfield, era novo (vinte e quatro anos), pálido, e quase tão pequeno como Hebron. Tinha uma tosse seca e contínua que toda a gente suspeitava ser TB. Mattfield trabalhava todos os filmes de Hebron; tinham o mesmo sentido de ritmo. Um grande plano da cara de uma mãe, por exemplo, quando o seu filho marcha para a guerra, seria desperdiçado se fosse cortado muito cedo. Se se deixasse passar durante muito tempo, perderia o impacte. O talento era saber quantas imagens daquela triste e lacrimosa
36
cara deveriam aparecer no ecrã. Não podia ser feito pelo sistema do cronometro.
Uma vez, Eli Hebron tinha tentado explicar este processo criativo a Marcus Annenberg, que nunca conseguira compreender como eram feitos os seus produtos.
- E como escrever um poema, tio Marc - disse. - Ou uma canção. Tem planos longos e planos curtos. E o modo e o tempo variam. Há um ritmo para isso. Quando está certo, sente-se.
- Como é que sabemos que venderá? - perguntara o velhote. Nesta tarde, Myron Mattfield e Eli Hebron estavam a visionar
uma cópia de montagem de Mrs. Robinson Crusoé. No filme, Friday, era uma rapariga que acabava por casar com Crusoé depois de um padre anglicano ser providencialmente levado pelo mar para a praia. Nem o supervisor nem o editor estavam satisfeitos com a montagem final.
- São as cenas na praia, Sr. Hebron-disse Mattfield. - Em que eles andam de mãos dadas. Uma vez, tudo bem. Duas, bem. A terceira vez, em que eles passeiam por aquela maldita praia, começa-se a bocejar. E à quarta...!
Hebron assentiu. O telhado de madeira do laboratório era baixo, irradiava calor. Tinha desapertado a gravata, aberto o botão do colarinho. A orla tinha deixado um aro verde no seu pescoço. Andou de um lado para o outro, com as mãos nas ancas.
- Onde está o Dupont? - perguntou.
Gregory Dupont tinha realizado Mrs. Robinson Crusoé. A meio das filmagens, Abe Vogel dissera a Hebron que Dupont estava a marcar passo na Magna enquanto discutia os termos de contrato com a Columbia.
As cópias estavam satisfatórias; Hebron não tinha queixas. Mesmo assim, esperara que o realizador estivesse à mão para a montagem final da sua primeira obra na Magna.
Myron Mattfield teve um ataque de tosse forte antes de conseguir responder ao supervisor. Inclinou-se para longe, segurando um lenço à frente da boca. Hebron voltou-se para o outro lado, à espera. A tosse enjoava-o: rouca, profunda, catarrosa. Por fim, acalmou; Hebron voltou-se no momento em que Mattfield enfiava um lenço ensopado dentro do bolso.
- Trabalhou comigo na primeira montagem, Sr. Hebron - disse Mattfield, ainda ofegante. - Depois disse-me para acabar. Não o vejo desde essa altura.
Hebron assentiu.
- O Dupont é um louco - disse. - Há formas... Não faz mal, Myron, não precisamos dele. Acho que tens razão acerca desses passeios na praia. Se cortarmos os dois últimos, que é que perdemos?
37
O editor olhou para o seu balcão.
Ficamos com cerca de quatro minutos a menos, Sr. Hebron.
Podíamos encher com o filme do chimpanzé. Os chimpanzés são sempre bons para rir.
Hebron abanou a cabeça.
- Essas cenas estão bem como estão - disse. - Isto é um filme sobre pessoas, não sobre animais. Precisamos de outra coisa.
Continuou a andar. Mattfield esperou pacientemente. Não podia fazer o seu trabalho antes de outros fazerem o deles.
- Que achas disto-disse Eli Hebron. -Voltamos a filmar. Filmamos mais cenas. Mais uma cena na praia. Friday sai para um mergulho matinal. Fato de banho feito de folhas. As ondas apagam as suas pegadas. Quando sai da água, para pregar uma partida a Crusoe, sai do mar para a areia de costas. Plano das pegadas dela. Esconde-se por detrás de uma rocha, a rir. Ele aparece, vê as pegadas dela na areia molhada. Aparentemente a entrar no mar mas não a sair. Fica desvairado. Corre a praia de um lado para o outro. Está fora de si, ela afogou-se! Depois vê-a a rir atrás de uma rocha. Vai a correr para o pé dela, aliviado mas zangado. Depois riem-se os dois. Lutam na areia.
- Parece-me bom, Sr. Hebron.
- Talvez faça eu próprio as filmagens - disse o supervisor. Sei exactamente o que quero.
- E Greg Dupont fica com os louvores - disse, cinicamente, o editor.
- Louvores? - disse Eli Hebron. - Que louvores? Dupont devia aprender a ler os contratos com mais cuidado. Não dizia nada acerca de louvores.
Na garagem, Barney O'Hara estava na conversa com os outros motoristas, para passar o tempo. Discutiam o segundo combate Dempsey-Tunney, marcado para Chicago, no Outono.
- O Mauler dá conta dele - disse autoritariamente OHara. Já aprendeu a lidar com os espertos. Olá, Sr. Hebron. Precisa de mim?
Ele puxou Barney para o lado e falaram de carros. Hebron tinha três: a limusina Hispano-Suiza, o LaSalle preto de quatro portas e um Packard amarelo, um automóvel de oito cilindros em linha. O LaSalle estava geralmente no estúdio. Barney
O'Hara ia para o trabalho no seu prórpio Hupmobile Oito e deixava-o guardado na garagem durante o dia.
- Barney, hoje, não preciso mais de ti. Podes levar a limo para casa. vou ficar a trabalhar até tarde.
38
- Como é que vai para casa, Sr. Hebron?
- Levo o LaSalle ou chamo um táxi. Vemo-nos de manhã.
- Obrigado, Sr. Hebron. Se precisar de mim esta noite... não tenha problemas em telefonar-me.
- Fá-lo-ei, Barney. Obrigado.
Caminhou determinadamente em direcção aos estúdios interiores, parou para acender um Lucky Strike. Esperou até ver a Hispano-Suiza castanha transpor o portão. Depois, voltou ao parque de estacionamento e meteu-se no LaSalle. Estava abafado. Abriu os vidros da frente e esperou alguns minutos. Ligou o carro, acenou para Mac no portão, e guiou até um prédio de dois pisos, em La Brea. Estacionou em frente a uma loja que vendia bijuteria mexicana, castanholas e sementes. Hebron deu a volta para as traseiras. Subiu a escada exterior, percorreu a varanda até uma porta com um cartaz afixado que dizia: MADAME ORTIZ, CONSELHEIRA. Bateu à porta e entrou. A porta accionou um sino ao abrir.
O sala cheirava a incenso e feijão. Via-se uma cortina de contas pendurada num arco que levava a um quarto interior. Na paredes havia pinturas em veludo preto de santos a sangrar. Havia um sofá gasto com uma almofada de pele com a inscrição "RECORDAÇÃO DE SÃO DIEGO". No meio da sala estava uma mesa de jogo com duas cadeiras de abrir e fechar.
Uma mulher gorda, mexicana, saiu do quarto interior, afastando a cortina. Trazia um baralho de cartas engordurado. Tinha um grande quisto no queixo com pêlos pretos
espetados. Voltas e voltas de conchas rodeavam o seu pescoço inchado, algumas penduradas até aos joelhos. Usava um anel em cada dedo.
- Sinhor - disse ela.
- Não tenho muito tempo - disse Eli Hebron. Sentaram-se à mesa. Ela deitou as cartas, pousando cada uma
delas com um pequeno estalido. Olhava para elas fixamente.
- Então? - perguntou Hebron.
- Como da última vez - disse ela. - Este homem, ele ão gosta de si.
- O homem escuro? O grande?
- Sim. Ele faz-lhe mal.
- Como? - perguntou Hebron.
- Não sei. Talvez queixinhas. Ele custa-lhe dinero. Vejo uma mulher. Uma rapariga. Uma jovem. Vai trazer-lhe flicidade.
- Tem a certeza?
- As cartas nunca mentem - disse ela, severamente. - O futuro está escrito. Está tudo aqui. Vai ganhar dinero. Muito dinero. Os homens maus vão tentar tirar.
- Mas vou encontrar a felicidade com a jovem?
39
- As cartas dizem.
- É bonita? É loura? Ou morena?
Madame Ortiz observou atentamente as cartas descoloradas.
- Morena - disse. - Tenha cuidado com ela.
- Cuidado? - disse Hebron. - Mas não diz que ela vai trazer-me felicidade?
- É assim - confirmou a mulher. - Mas cuidado. É tudo o que
vejo.
Ele deu-lhe cinco dólares e saiu.
Eddie Durant, um tipo que gostava de mastigar pastilha elástica, era mais carpinteiro do que desenhador de cenários. Era bom nas coisas frágeis para as comédias turbulentas. Podia confiar-se-lhe os bares dos westerns e casas de fazenda. Mas contratavam outros para desenhar cenários mais complexos e luxuosos para as longas metragens de Hebron. Isso não melindrava Eddie. Ele era o único homem na Magna que sabia onde estava cada artigo no grande armazém de adereços. Achava que isso lhe assegurava o emprego.
Quando Eli Hebron entrou apressadamente pelo estúdio interior dois, Eddie Durant e os seus ajudantes estavam a dar os últimos retoques na loja parisiense para o teste de Gladys Potts.
- Está bem, Sr. Hebron?
- Está óptimo, Eddie. Põe o espelho mais perto do balcão.
- Claro. Que altura tem esta cadela?
- Ela não é uma cadela, Eddie.
- Desculpe, Sr. Hebron. Que altura tem a senhora?
- Faz diferença?
- Claro que faz, Sr. Hebron. Ela vai estar de pé ao balcão... correcto?
- Sim.
- Portanto, não o queremos alto de mais. Fá-Ia parecer uma anã. Ou podemos cortá-lo e fazê-la parecer mais alta.
- Eddie, és um génio!
- Estou farto de lhe dizer isso, Sr. Hebron.
- Tem mais ou menos a minha altura.
- Alta - disse Durant, diplomaticamente.
- Corta-o, Eddie - disse-lhe Hebron, suspirando.
Stan Haggard, que iria dirigir o teste, já estava no palco. Estava a mostrar a dois electricistas onde queria as luzes. O operador de câmara, Ritchie Ingate, ainda não aparecera.
Hebron dirigiu-se a um canto onde Abe Vogel estava de pé com um homem mais velho, atlético e imponente, com uma cartola,
40
casaco aba de grilo, calças às riscas, botas curtas com polainas curtas cinza-pérola. Tinha uma barba pontiaguda que parecia pintada.
- Sr. Hebron - disse nervosamente o agente -, este é o barão Von Stumpf.
- E um prazer - disse o homem, estendendo uma mão enluvada.
- Prazer em conhecê-lo, barão - disse Hebron, apertando a luva. - A barba é sua?
- Puxe - disse o homem, esticando o queixo para Hebron.
- Acredito em si - Hebron sorriu. - Tem bom aspecto. Exactamente o que eu queria. Onde está a rapariga, Abe?
- Na maquilhagem e guarda-roupa, Sr. Hebron - disse Vogel.
- Chegámos mesmo a tempo.
- Tenho a certeza de que sim - disse o supervisor. - Descontraia-se. Estamos à espera do operador de câmara. Depois, eu descrevo a cena.
Bea Winks entrou pela porta. Levava Gladys Potts pela mão. Tinha-lhe posto uma peruca de caracóis louros compactos, uma touca brilhante. A sua blusa de manga curta
era uma cascata de folhos rematados com fitas. Vestia um corpete com laços e uma saia comprida de brocado vermelho, com saiotes cor-de-rosa a aparecer. Tinham-lhe
pintado os lábios em forma de arco de Cupido, e colaram-lhe um sinal em forma de estrela na bochecha. A sua cara estava com mau gosto suficiente para aparecer na
capa da College Humor. Parecia estar à beira das lágrimas.
Eli Hebron explodiu.
- Sua maldita idiota! - gritou para Bea Winks. - Chamas a isto uma balconista parisiense? Onde é que tens o cérebro... no rabo? Que é que se passa contigo, sua vaca
estúpida? Ela parece uma puta cigana.
Tinham ficado todos gelados. Nem um som, nem um movimento. A olhar para o supervisor.
- Será que tenho de fazer tudo pessoalmente? - gritou. - Tira essa merda toda da cara dela. Faz-lhe só os olhos maiores e é tudo. A blusa devia ser de manga comprida, simples. Como uma camisa de mulher. Decote grande para mostrar o meio dos seios. Pode ter apenas um folho no decote. Um cinto de pele preto e largo. Uma saia preta direita, uma saia travada até aos tornozelos. Blusa branca, saia preta. Percebes inglês?
- Sim, Sr. Hebron - disse Bea Winks em voz baixa e trémula.
- Estarei no meu escritório - gritou para todos eles. - Chamem-me quando estiverem prontos. E, desta vez, por amor de Deus, façam a coisas como deve ser.
Deixou-os a tremer, pálidos.
41
Passou como um furacão por uma espantada Mildred Eljer, bateu as portas do seu escritório interior. Engoliu dois dos comprimidos cor de laranja. Encheu um copo de gim quente e beberricou, balançando-se para trás e para a frente na sua cadeira giratória. Passado algum tempo chamou Mildred pelo dictógrafo e disse-lhe que podia ir para casa. Ela começou a dizer: "Sr. Hebron, o senhor está..." mas ele desligou.
Continuou a balançar, a olhar pelas janelas altas.
Todos eles - executivos, supervisores, realizadores, actores, operadores de câmara, técnicos-trabalhavam muitas horas. Os actores chegavam ao estúdio às seis da manhã para a maquilhagem e guarda-roupa. As filmagens começavam nos cenários de exterior quando o sol já ia alto e só acabavam ao anoitecer. Os estúdios interiores estavam muitas vezes a funcionar até à meia-noite. Era frequente as luzes que iluminavam o pátio ficarem acesas durante toda a noite. A linha de montagem nunca parava. A procura nunca parava. Habitantes pobres de Nova Iorque, nativos africanos, trabalhadores chineses sentados em cadeiras estofadas, em bancos de madeira, e em sacos
de terra, a olhar para a magia tremeluzente, a sonhar.
Passado algum tempo, o gim acabou, Eli Hebron deitou-se no sofá de pele. Pôs um braço por cima dos olhos. Talvez tivesse dormitado.
Acordou quando o telefone tocou. Cambaleou pelo escritório escurecido até à secretária.
- Sr. Hebron? Fala Stan Haggard. Estamos prontos para si, senhor.
- Ritchie Ingate está aí?
- Está sim, Sr. Hebron. Estamos todos prontos.
- Estarei aí dentro de minutos.
No lavatório, pôs água a correr sobre as veias dos pulsos. Penteou o cabelo fino e escuro para trás. Reginald Denny. Ajustou o colarinho, gravata, camisa, calças, casaco. Ficou tonto e teve de se agarrar ao lavatório para se equilibrar. Não estava bêbado e não era uma doença física. O Dr. Irving Blick tinha-lho dito.
- Uma tontura, Sr. Hebron. Um estado desordenado. Uma espécie de desorientação.
- Pode ser curado, doutor?
- Bem... - Blick tinha encolhido os ombros.
Estavam à espera dele, nervosos, no estúdio dois. As luzes estavam acesas. Dirigiu-se a Gladys Potts. A maquilhagem pesada tinha sido removida. Tinha sido levemente empoada com pó branco, um toque de vermelho para acentuar os lábios. Tinham contornado os olhos com uma cor escura para os realçar. Pareciam enormes,
42
luminosos. Tinham-lhe colocado uma peruca preta pesada, com o cabelo falso preso numa trança enrolada no alto da cabeça. Dava-lhe um aspecto real.
Vestia uma blusa de manga comprida de voile branco com um corpete branco por baixo. Tinha um decote fundo e rematado com um folho, que deixava entrever os seios pequenos e redondos. O cinto preto, muito apertado, fazia-lhe uma cintura não mais larga do que o pescoço de um homem gordo. Uma saia comprida e apertada caía até aos tornozelos. Botas de botões.
O cinto apertado obrigava o seu torso a uma postura constrangida. Via-se uma agradável curva em S que partia dos ombros e peito ao longo da cintura estreita para alargar nas ancas e rabo. Hebron levantou o olhar. Agora, a rapariga sorria.
Voltou-se para Bea Winks.
- Desculpa a minha explosão, Bea. Por favor, perdoa-me.
- Não faz mal, Sr. Hebron - disse ela, rigidamente. - Era isto que queria?
- Lindo! - disse ele. - Exactamente o que imaginei. Por favor, aproximem-se todos.
Juntaram-se à volta dele.
- É isto que quero... Esta jovem, a menina Gladys Potts, é uma balconista parisiense. De há cerca de vinte anos. E pobre, muito, muito pobre. Mas trabalha nesta loja cara, e, naturalmente, sonha com o dia em que poderá usar estas lindas luvas e lenços, e estes perfumes e jóias, etc. Ela deseja estas coisas, mas é uma rapariga boa, uma rapariga inocente. Compreendem?
Todos assentiram solenemente. Compreenderam: a rapariga ainda não tinha sido fodida.
- Ora a cena é esta... Entra um nobre rico, aqui o barão Von Stumpf. Veio escolher uma prenda para a sua mulher, para a sua actual amante, para alguém. Mas sente-se atraído pela balconista, um pedaço de mulher. Não consegue tirar os olhos dela. Ela apercebe-se do interesse dele, mas é incapaz de namoriscar. Depois, ele selecciona
várias coisas. Não consegue decidir-se. Põe-na a provar essas coisas para ver como ficam. Um chapéu, luvas, um lenço, colar, etc. Ela faz de modelo para ele. Ele admira. Por fim, selecciona um colar que lhe agrada. Ou um lenço, chapéu... pode ser qualquer coisa. Pergunta-lhe se gosta. Ela gosta. Manda embrulhar. Paga. E, com o dinheiro, entrega-lhe o seu cartão. Grande plano do cartão. Um pedaço de cartão qualquer serve, Stan; isto é só um teste. E, então, o homem dá-lhe a prenda! Põe-na na mão dela. Depois sai, a sorrir. O gato comeu o canário. Ela está espantada. Nunca lhe ofereceram uma prenda tão boa. Deverá aceitá-la ou não? Volta a experimentá-la, o que quer que seja... lenço, chapéu, colar... e dá voltas e mais
43
voltas, a ver-se ao espelho. Fica-lhe muito bem. Por fim, pega no cartão dele e está a lê-lo quando a imagem se desvanece. Nós sabemos, pela expressão da cara dela, que já se decidiu: vai deixar de ser a balconista pobre. É isto. Alguém tem dúvidas?
- Eu sou um libertino? - resmungou o barão Von Stumpf. Um engatatão de salão?
- Exactamente.
- Óptimo - disse o barão.
- Alguma dúvida, Stan? - perguntou Hebron.
- Acho que já percebi, Sr. Hebron. Cinco minutos?
- No máximo. De preferência menos. Um encontro casual. Um incidente com importância. Uma viragem de vida num momento. Condensa-a. O máximo que puderes no mínimo tempo possível. Menina Potts?
- Sei o que pretende, Sr. Hebron - disse ela.
- Tem alguma objecção? Alguma coisa que soe a falso?
- Soa bem - disse ela.
- Óptimo - disse ele. - Descontraia-se. Tente não estar nervosa. Somos todos seus amigos. Queremos tanto como você que isto corra bem.
Voltou-se e encaminhou-se para a saída. Se ficasse, ficariam gelados de ansiedade, com receio de nova explosão. Lá fora, no pátio, apercebeu-se de alguém atrás de si e voltou-se.
- Ela gosta de si, Sr. Hebron - murmurou Abe Vogel.
O supervisor ficou a olhar para ele. A actividade do estúdio continuou à volta deles: tractores a puxar luzes, um batalhão de soldados da União a marchar, um homem a carregar uma enorme cruz de pau-de-balsa, um rebanho de carneiros a serem levados para os currais dos terrenos.
- Como é que sabes, Abe?
- Ela disse-me.
Hebron assentiu lentamente.
- Tenho de trabalhar até tarde. Quando ela acabar, manda-a subir ao meu escritório.
- Quer que ela mude de roupa primeiro, Sr. Hebron?
- Não. Vestida assim.
- Devo esperar por ela?
- Não faças isso, Abe. Eu trato de levá-la a casa.
- Quero agradecer-lhe, Sr. Hebron, por dar uma oportunidade à rapariga. Acho que ela tem qualquer coisa. Vai ver.
Disse-lhe para deixar a blusa, o corpete e a fita do cabelo. Ajudou-a a desapertar a saia travada e a equilibrar-se enquanto a
44
tirava. Ela tinha collants de dança de nylon. Tirou-as. Disse-lhe que podia ficar com as botas e meias. Quando ela se deitou no sofá de pele, ele descobriu que as ligas eram apertadas. Baixou-as e às meias pretas de algodão, até às botas. Esfregou suavemente os vincos que as ligas tinham deixado nas coxas.
Os olhos dela estavam abertos. Olhava para a luz fraca do pátio que entrava pelas cortinas fechadas.
Tocou nas pernas dela. Ao mesmo tempo, os seus dedos percorriam rapidamente a pele dela, e a ponta da sua mão roçava nas almofadas do sofá de pele. Era a mesma coisa: frio, macio, quase gélido. Pôs as mãos debaixo dela. Tinha as costas macias como as de uma doninha.
Quando se tornou evidente, para ambos, que ele não iria fazê-lo, não conseguia fazê-lo, ela sentou-se, debruçou-se sobre ele, pô-lo na sua boca.
- É isso mesmo, miúda - disse ele.
Fechou os olhos. Ela era muito boa. Lenta. Quase meditativa. Ele fez um som. Ela não se afastou, continuou com ele. Por fim, no final, empurrou-o para trás, levantoú-se, e foi até ao lavatório, com a mão na boca. Voltou e deitou-se novamente. Levantou os joelhos, afastou as coxas. Ele tacteou cuidadosamente com o dedo indicador, encontrou uma coisa que fez com que as coxas dela se levantassem do sofá num impulso. Continuou, a olhar para ela com curiosidade. A cabeça dela movia-se de um lado para o outro.
- Oh! - gritou. Mais tarde, ela disse:
- Obrigada, Sr. Hebron.
Enquanto ela se estava a vestir, ele disse:
- Queres uma bebida? Tenho gim e scotch. bom scotch. Do verdadeiro.
- Quero scotch, por favor. com água.
- Temos um Frigidaire novo no gabinete lá de fora. Queres gelo?
- Sim, por favor, Sr. Hebron.
Estava a acabar de apertar a saia quando ele voltou com as bebidas. Scotch para ela, gim para ele. Estendeu-lhe a bebida, depois sentou-se no sofá e puxou-a suavemente para o colo. Tocaram os copos e beberam.
- Isto não vai fazer qualquer diferença, pois não, Sr. Hebron? perguntou ela. - Quero dizer, em relação ao teste?
- Oh, não - disse ele. - Não. Espero que esteja bom. Como é que achas que correu?
- Eu estava nervosa - disse ela.
- Claro. Nós compreendemos isso. Mas dei-te um bom realizador
45
e um bom operador de câmara. A roupa e maquilhagem estavam
bem.
Quando é que vai saber, Sr. Hebron?
- Exibimos os testes para todos os supervisores e realizadores no sábado de manhã - disse. - Ligo para o Abe na segunda-feira. Qualquer que seja o resultado.
- Será que me podia dizer antes disso? - perguntou ela. Podia telefonar-me no sábado, Sr. Hebron?
- Está bem - ele riu-se. - Deixa o teu número. Telefono-te no sábado.
Ela beijou o cabelo dele.
- É um amor - disse.
- Sou? - perguntou ele, surpreendido.
- É mesmo - confirmou ela. - E é muito bonito.
- Obrigado - disse ele. - vou chamar-te um táxi.
Timmy Ryan estacionou o seu Nash Special 6 coupé em Ventura. Desligou o motor e apagou as luzes. Tinha tirado a farda em casa, mas trouxera o charuto White Owl que Charlie Royce lhe tinha dado. Acendeu-o nesse momento e deu-lhe umas baforadas, com prazer. Tinha fumado quase metade quando um automóvel Hudson 22 travou atrás do seu carro e estacionou, pára-choques com pára-choques.
Ryan, ainda a fumar calmamente, olhou pelo espelho retrovisor. Viu um homem sair, fechar cuidadosamente a porta e dirigir-se ao Nash. A porta do lado do passageiro abriu-se. Bernie Kaplan entrou.
- Bernie - disse Ryan cordialmente -, nos makst du?
- Que raio de pronúncia que tu tens - disse Kaplan. - E que porcaria de charuto.
- Ah, é? - isse Timmy Ryam, preguiçosamente. - Gostos há muitos. Tens alguma coisa?
- É de adormecer - disse Kaplan. - Chato, chato, chato. Timmy, até quando é que isto vai continuar?
- Até eu te dizer para parar. O dinheiro está certo, não está, Bernie?
- Oh, o dinheiro não tem nada errado - disse Kaplan, rapidamente. - O dinheiro é bom.
- Foi o que pensei - disse Ryan. - Então?
Kaplan tirou um pequeno bloco de apontamentos do bolso interior.
- Não consigo ler - disse. - Queres ler tu?
- Não - disse Ryan.
46
- Bem, também não há grande coisa - informou Kaplan. - A merda do costume. com a diferença que esta tarde saiu do estúdio. Foi de carro até La Brea. Uma zona mexicana.
- Quando é que foi isso?
- Por volta das quatro da tarde. Deu a volta por trás, subiu as escadas, entrou numa casa. Uma tal de Madame Ortiz. Uma mex. Uma velhota. Lê o futuro nas cartas. Tem alguma importância?
- Pode ter - disse Ryan. - Quanto tempo ficou lá?
- Dez minutos, no máximo.
- Tens a morada?
- Timmy, Timmy - Kaplan suspirou. - Achas que sou algum estúpido? Claro que tenho a morada.
- Mais alguma coisa?
- Nada. Já te disse, é de adormecer.
- Onde é que ele está agora?
- Na caminha. Bem aconchegadinho.
- Está bem, Bernie. Obrigado.
- Timmy - disse Kaplan -, quem é que está a pagar isto? Ryan voltou a cabeça lentamente para olhar de frente para o
outro homem, na obscuridade.
- Bernie - disse -, sabes o que aconteceu ao gato, não sabes?
Estacionou o LaSalle na entrada de carros. Subiu os degraus, com a pasta na mão. A porta abriu-se, e Robert saiu apressadamente, a apertar o colete de riscas.
- Boa noite, Sr. Hebron - disse, pegando na pasta. - Que bela noite!
- Sim - disse Hebron. - Como é que foi o teu dia de folga?
- Muito agradável - disse Robert. Passava o seu tempo livre a trabalhar como porteiro no Templo Aimee Semple Angelus. - Uma grande multidão, e a colecta foi boa. Uma reunião muito bem sucedida.
- Ainda bem. Pões a pasta no estúdio, por favor, Robert? vou subir para tomar banho. vou estar em casa toda a noite.
- Quer que prepare o banho, Sr. Hebron?
- Não, eu posso tratar disso, obrigado.
- Já comeu, Sr. Hebron? Teve de pensar um momento.
- Desde o almoço, não - disse. - Uma salada. Mas não tenho fome.
- A Sr." Birkin tem um assado de carne excelente, Sr. Hebron. Um prato frio? Uma sanduíche?
47
Não me parece, Robert. Talvez uma fruta fresca. Que é que
temos?
- Um ananás fresco, Sr. Hebron. Parece muito bom. Pêras? Laranjas?
- O ananás está óptimo. Está frio?
- Oh, sim. Esteve a refrescar o dia todo.
- Óptimo. Quero uma tigela com pedaços de ananás. Podes deixá-la no estúdio. vou trabalhar para lá. Importas-te de guardar o LaSalle na garagem, por favor? E depois podes recolher-te; já não vou precisar de ti esta noite.
- Obrigado, Sr. Hebron.
- Obrigado, Robert.
Ficou parado ao fundo da escadaria, a olhar para o vazio. Um estranho na sua própria casa.
Tinha sido decorada em Arte Moderna por um estudante de saariano, recomendado a Eli Hebron por Cedric Gobbons. Tinha custado muito dinheiro, mais de cem mil. Tinham aparecido fotografias do interior em revistas de arte e arquitectura. Uma vez por mês, Hebron autorizava uma visita guiada, para acções de beneficência. Tinha mobiliário de Jallot e Ruhlmann, um relógio de Tony Selmersheim, espelhos Lalique, uma estátua de bronze assinada por Mareei Bouraine, uma cómoda de Pierre Chareau. Tudo era Egípcio, com ninfas saltitantes, globos de vidro fosco, madeiras embutidas, corsas, fontes, cortinas com desenhos de folhagens, pombas por todo o lado. A casa era um museu resplandecente. O conjunto de vitrola-radiola estava num armário de madeira de amboína, desenhado por Louis Sognot.
Subiu as escadas, exausto, apoiado no corrimão. Pôs o banho a correr enquanto se despia. O seu corpo parecia-lhe pálido e flácido. O falhanço com Gladys Potts desanimara-o.
com a sua mulher, com Grace Darling, tinha sido possante.
- Meu xeque judeu - chamava-lhe ela, afectuosamente, arranhando-lhe as costas com as unhas. - Não, assim não. Sim, assim. Assim! Continua! Continua!
Recostou-se na banheira quente e fechou os olhos. Imagens. As costas dela eram macias como as de uma doninha. O cabelo, o triângulo, era preto, sem caracóis, a cair suavemente. Uma pequena pelica. Ela cheirava ligeiramente a qualquer coisa em crescimento. Será que depilava as pernas? Uma noite, um mês antes de a mulher morrer, Hebron tinha pedido uma rapariga a Bea Winks. A que ela mandou - muito escura, sombria, com um leve ar de estrangeira estava completamente depilada. Não tinha qualquer pêlo no corpo. Tinha perfurado os mamilos. Mostrou-os a Hebron; podia pôr argolas nos mamilos. Apertou-o dentro dela, como um punho de
48
músculo quente. Começou, parou, começou, parou. Conseguiu pô-lo a gritar. Nunca mais voltou a pedi-la.
Desceu para o estúdio, descalço, com um roupão de lã pura vestido. Grace tinha-lho dado. Parecia um fato de monge, tinha capuz e cinto de corda.
Ligou a radiola, brincou com o sintonizador. Apanhou uma estação de São Francisco que passava uma rapsódia de melodias de Show Boat. Era a orquestra de Ted Weems.
Robert tinha colocado a pasta ao lado da secretária de madeira de cerejeira e metal esverdeado do atelier Primavera do Printemps. Uma taça de vidro fosco com pedaços
de ananás e cubos de gelo estava sobre um guardanapo de linho, em cima do mata-borrão da secretária. Hebron provou
um bocado. Estava frio e era doce.
Serviu um copo de gim de uma garrafa que estava na cómoda Chareau. A garrafa tinha um rótulo que dizia "OLD LONDON GIN", mas Hebron calculou que fosse falso. Acrescentou
algumas gotas de licor amargo para anular o sabor forte a zimbro. Em vez de fazer uma viagem longa até à cozinha, pescou alguns cubos de gelo da taça de ananás e pô-los na bebida.
Leu calmamente argumentos e sinopses. Mesmo depois da estação de São Francisco sair do ar à meia-noite, continuou a ler. Gostava da sinopse de The Bridge of San Louis Rey, mas duvidava de que a Magna conseguisse cobrir os grandes estúdios nas ofertas de direitos da novela. Havia também um argumento original apresentado por um agente de Nova Iorque, que achou que poderia resultar, com algumas alterações. Era sobre um homem apaixonado pela mulher do seu irmão. Viviam os três na mesma pequena fazenda.
Eli Hebron conseguia ver a cena-chave. O marido e a mulher na cama. O irmão deitado do outro lado de uma parede fina. A ouvir as risadas deles, os soluços e os gemidos. A cama a estalar. Ali deitado a sofrer. Luar através da janela a mostrar a sua cara transpirada. Uma boa cena.
A história acabava com o homem solteiro a matar, não o irmão casado mas a mulher. Eli Hebron não tinha a certeza se isto soava verdadeiro, se o amor fraternal deveria prevalecer sobre a paixão. Será que o público aceitaria isso? Acreditaria nisso? O assassino teria de pagar pelo seu crime, claro. Teria de ser enforcado. Seria isso o que o homem queria desde o início - estar junto, na morte, com a mulher que amava? Eli Hebron pousou o guião. Uma ideia interessante. Uma ideia perturbadora.
Eram quase três da manhã quando acabou. Voltou a pôr os argumentos e sinopses na pasta. O ananás tinha acabado, o gelo tinha derretido. Encheu o terceiro copo de gim - este já quente. Saiu do estúdio pela porta envidraçada, para o vasto terraço. com a bebida
49
na mão, a beberricar de vez em quando, desceu distraidamente os degraus de seixos até à piscina. Sentou-se num banco de mármore, ainda quente do calor do sol.
Uma noite suave, uma noite perfumada. Quarto crescente num céu com nuvens. Quando olhou para a piscina, viu a superfície brilhante da água a mexer-se levemente. Não estava a ser agitada pela brisa - não havia brisa - mas agitada no centro por algo profundo e misterioso. A água da piscina não tinha renovação constante; a água deveria estar parada. Mas movia-se em círculos que partiam de alguma obscura turbação que estava no meio. Não conseguia entender aquilo.
Olhou fixamente até os seus olhos ficarem vítreos. Sentiu-se consumido pela solidão.
Passado algum tempo, bebida terminada, subiu para se deitar. Tomou dois comprimidos - brancos, desta vez - e meteu-se entre lençóis de seda. Quando adormeceu, estava a pensar no homem que matou a mulher do irmão. Sim, pensou, um homem poderia fazer isso. Por amor.
Bea Winks tinha uma casa alugada em West Hollywood. Era uma estrutura com três pisos parecida com um celeiro em Crescent Heights: com cinquenta anos, design vitoriano, alpendre envidraçado, janelas de águas-furtadas, minaretes, coruchéus, varandas, ornamentos com arabescos e um varandim falso em cima, rodeado por uma grade de ferro-forjado.
O interior também era vitoriano. Candeeiros de vidro colorido com franjas de contas. Ramos de flores secas com sinos de vidro por cima. Bonecas francesas e estatuetas de Dresden. Uma cabeça de alce e uma armadura japonesa. A casa pertencia a um viúvo rico que, após a morte da mulher, se tinha mudado para Paris e ia ver Josephine
Baker ao Folies quatro vezes por semana.
O único quarto que Bea Winks tinha libertado do atravancamento vitoriano era o seu quarto no segundo piso. Os candeeiros de franjas originais e a cama de quatro colunas tinham ficado, mas o quarto tinha sido aligeirado com chintz, folhos, almofadas alegres, uma mesa de cocktail de espelho (com um shaker de prata martelada), e um sofá de cetim cor de tabaco-escuro.
Charlie Royce estava afundado no sofá, com as polainas castanhas em cima da mesa de cocktail. Tinha desabotoado o colete, soltado a gravata e aberto o colarinho. E stava a beber umPink Lady.
Bea Winks, vestida com um robe de mandarim de brocado, fechado até ao pescoço com pesados galões, estava também sentada no sofá. Estava sentada por cima dos pés descalços. Também estava
50
a beberricar um Pink Lady. O shaker de prata estava ainda meio e gotas da mistura escorriam pelos lados.
Do outro lado, na cama de quatro colunas, estava uma rapariga deitada de barriga para baixo, apoiada nos cotovelos. Tinha uma camisa de noite cor-de-rosa vestida. Um gatinho siamês pulava sobre a colcha. A rapariga estava a brincar com ele com o seu cabelo comprido cor de mel, a rir-se deliciada quando o gatinho se atirava a ele ou caía de costas, com as patas a agitarem-se no ar.
- Disse-lhes para me ligarem para aqui - disse Charlie Royce.
- Tens a certeza de que te importas se eu fumar um charuto?
- Importo-me - disse-lhe Bea Winks.
- Está bem - disse ele, sem parecer aborrecido. - Posso esperar. Que é que aconteceu depois do teste?
- Não sei - disse ela, mal humorada. - A rapariga desapareceu simplesmente. Vestida com a roupa do teste. Não sei o que lhe aconteceu. Saí.
Ele olhou para ela por momentos, divertido.
- Que é que foi, Bea? - zombou. - Ele tirou-te da jogada?
- Não é o meu tipo - disse Bea Winks, secamente.
- Mas ela serve para o que pretendemos - disse Royce.
- É o que tu achas.
Bea Winks era uma mulher magra e nervosa, com cabelo curto, pintado. Os braços nus eram musculados. As unhas dos pés estavam pintadas de vermelho, coisa que Charlie Royce nunca tinha visto até chegar a Hollywood. A sua cara era atraente, ossuda, com lábios finos e um nariz um tanto longo. Royce calculava que teria trinta anos, mas nunca lhe perguntara.
Ele estava a encher novamente os copos com o shaker quando o telefone de parede tocou. Estava numa caixa de madeira, fixa numa placa de parede de madeira: estilo caixa de bolachas. Bea Winks saltou do sofá e foi atender.
- Sim - disse -, ele está aqui.
Estendeu o auscultador a Royce. Quando ele lhe pegou, ela voltou para o sofá, e voltou a enroscar-se. Olhou para ele por cima da beira do copo. A rapariga de cabelo cor de mel começou a beijar o nariz do gatinho.
- Sim, Timniy - disse Royce. - Ah-ah... Sim... Pode ser. Conseguiste a morada?... Óptimo... Sim.... Deixa-me pensar nisso, Timmy. Depois digo-te.... Para ti também...
Boa noite.
Desligou e voltou para o sofá.
- Ele foi a uma cartomante - informou. - Esta tarde.
- Uma cartomante?
- Isso mesmo. Uma velhota mexicana. Ela lê a sina através das cartas.
51
Bea ficou silenciosa por momentos, e depois disse: Acreditas nessas coisas, Charlie? Cartomancia?
- Claro que não - disse Royce.
- Não sei - disse ela suavemente. - Leram-me a sina há muito tempo, e a mulher disse que eu nunca me casaria.
Royce deu uma gargalhada.
- E eu sei porquê - disse. O telefone voltou a tocar.
- Esta é que interessa - dise Charlie Royce. - Faz figas. Levantou-se e caminhou pesadamente para o telefone, forte e
com um ar ameaçador.
- Sim? - disse, cautelosamente. - Sim, Abe, sou eu. Que aconteceu?... Hum-hum... hum-hum... Falaste com ela?... Óptimo... Abe, já te disse, não tens de te preocupar com isso. Vais ter protecção... Claro... É claro... Podes confiar em mim, sabes disso... Sim, Abe, eu compreendo. Tens toda a razão... Boa noite, Abe.
Afastou-se do telefone, com ar carrancudo.
- Idiota! - disse. - Está vacilante.
- Como é que correu? - perguntou Bea Winks.
A expressão de Royce iluminou-se. Sorriu para ela.
- Muito bem - disse. - Como eu calculei.
- Espero que saibas o que estás a fazer - disse ela.
- Eu sei - garantiu-lhe ele. - Acredita, eu sei.
Bea Winks pousou a bebida na mesa de cocktail. Levantou-se e bocejou, esticou os braços nus num gesto largo. Ele viu-a caminhar preguiçosamente para a cama. Sentou-se ao lado da jovem e começou a acariciar o cabelo dela.
Charlie Royce voltou a encher o copo e dirigiu-se também para a cama. Puxou um cadeirão forrado com cretone. Afundou-se nele, esticou as suas longas pernas, com os tornozelos cruzados.
- Continuem, raparigas - sorriu para elas. - Não se preocupem comigo.
52
53
Na sequência do sucesso de Rudolfo Valentino, a Magna Filmes, SÁ. - seguindo a máxima de Marcus Annenberg: "Sê sempre o primeiro com o segundo" - apressou-se a descobrir e promover o seu próprio amante latino. Depois de uma busca com o apoio de agentes em ambas as costas, encontraram a sua estrela no rancho de Culver City. Representava chefes Apaches em westerns.
O seu nome era Giuseppe Cavelli. Viera para Hollywood porque todos o seus amigos em Altoona, Pensilvânia, lhe diziam que imitava muito bem Enrico Caruso a cantar Over There. Era esbelto, moreno, bonito. Tinha olhos de cama. Eli fez contrato pessoal com ele. O seu nome foi mudado para Nino Cavello, foram-lhe dadas instruções para deixar crescer as patilhas, e foi rapidamente lançado emDesert Love. O filme tornou-se o filme mais rendível da Magna em 1923. Todos os filmes de Cavello desde aí tinham sido altamente rendíveis; sem qualquer desaire pelo meio.
A reputação de Nino Cavello como grande amante foi cuidadosamente criada e alimentada pelo departamento de publicidade da Magna. Era visto nos melhores restaurantes de Los Angeles e Nova Iorque, a jantar com mulheres bonitas. Publicavam-se fotografias que o mostravam de pé no convés de um iate branco fustigado pelo vento, a banhar belezas que preguiçavam em segundo plano. Nino estava de pé com os pés afastados, punhos nas ancas, queixo erguido, olhar pensativo, com a camisa desabotoada para revelar um peito sem pêlos. Espalhavam histórias e entrevistas por jornais e revistas em que ele falava da grande tragédia da sua vida: ainda não tinha encontrado uma mulher para amar, amar verdadeiramente, com toda a paixão que sentia dentro de si.
Como resultado desta campanha, Nino Cavello recebia o maior volume de correio de fãs de entre todas as estrelas da Magna, mais ainda do que Margaret Gay. Muitas das cartas endereçadas a ele, abertas e respondidas pelo departamento de publicidade, continham tufos de pêlos púbicos das suas delirantes admiradoras.
Apesar do seu sucesso, do dinheiro que tinha ganho, da aclamação do público, Nino Cavello era um rapaz tímido e religioso. Tinha trazido a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, os avós, e vários primos
54
para o oeste para viver com ele na sua mansão de Beverly Hills. Corava facilmente, ficava embaraçado durante as cenas de amor, e ficava invariavelmente enjoado no iate que a Magna tinha alugado para as suas fotografias, apesar de estar ancorado no molhe de Santa Mónica. Tinha sido atacado duas vezes em público por maridos ciumentos que diziam que ele tinha acabado com os seus casamentos. Possivelmente era verdade, embora Cavello nunca tivesse conhecido as senhoras envolvidas.
Agora, o próprio Nino Cavello queria casar. A má notícia foi trazida a Eli Hebron, no sábado de manhã, por Henry Cushing, responsável pelo departamento de imprensa e publicidade da Magna. Cushing era um homem corpulento com um tom de pele congestionado. Vestia sempre blazers da marinha com botões dourados, calças de flanela cinzenta, e sapatos de camurça brancos com compridas línguas franjadas. Tinha começado como propagandista de um cinema de Balaban Katz, em Chicago. Era muito conhecido e respeitado como o homem que tinha acorrentado um carcomido e letárgico leão no átrio do cinema, durante a projecção do Tarzan ofthe Apes, de Elmo Lincoln.
- Quem é a rapariga, Hank? - perguntou Eli Hebron. Cushing suspirou, e limpou o suor da cara com um lenço encharcado.
- O nome dela é Rosa Sinigalli, Sr. Hebron. O pai dela tem uma vinha em Napa. Tem dezoito anos, tem cerca de
1 metro e cinquenta e oito, e deve pesar noventa quilos.
Ah... e tem bigode.
- Como é que Nino a conheceu?
- O pai dele conhecia o pai da Rosa de Naples. Amigos de infância. E quando Cavello se mudou para cá, procurou o seu velho amigo e as famílias juntaram-se. Sr. Hebron, se isto vai por diante, Nino está acabado!
- Podíamos dar-lhe um jeito - disse Hebron, devagar. - Pôr a Bea Winks a trabalhar nela. Depois dar ao casamento uma grande promoção: "Casamento do século!" Esse tipo de coisas.
Cushing abanou a cabeça, ainda a transpirar.
- com o Rod La Rocque e a Vilma Banky a darem o nó, isso não pega. Quem é que vai ligar ao Nino Cavello a casar com uma gorda, devoradora de pasta com bigode? Tem de o convencer a desistir, Sr. Hebron. Ele tem um na lata e outro em filmagens. Se ele fizer isto às fãs, pode esquecer esses filmes. Ele está lá fora, Sr. Hebron, com o padre. Importa-se de falar com ele?
- com o padre?
- O padre DiGioia. Pertence à igreja de Nino. São bastante íntimos. E por que não? Nino ofereceu-lhes um altar novo no ano passado. Vinte mil, pelo menos.
55
Está bem, Hank - Hebron suspirou. - Manda-os entrar.
O padre DiGioia era um homem pequeno, delgado e com ar pesaroso, com óculos com aros de aço de lentes tão grossas que os seus olhos pareciam balas. Sentou-se no sofá com ar formal, joelhos juntos, mãos entrelaçadas devotamente no colo.
- Bem, Nino - Hebron sorriu para a estrela -, Hank contou-me a novidade. Parabéns.
- Obrigado, Eli - disse Cavello, timidamente, baixando a cabeça. - Ela é boa rapariga.
- É bonita - disse Hebron. - Hank diz que ela é muito atraente.
- Boa cozinheira - murmurou Cavello. - Uma cozinheira maravilhosa!
- Já conhece a rapariga, padre? - perguntou Hebron ao padre.
- Oh, sim, Sr. Hebron. Uma rapariga impecável. Excelente família. Vai ser uma boa esposa para Nino. Toda a gente está satisfeita.
-Ainda bem - disse Hebron. - A única coisa que me preocupa é o bem-estar e felicidade de Nino. Espero que todos entendam isso.
- Claro - disse Henry Cushing, assentindo energicamente.
- E a única dúvida que eu tenho é quanto à idade da rapariga. Ela tem dezassete?
- Dezoito, Eli - disse Cavello, corando.
- Bem, isso ainda é... quanto, Nino? Dez anos mais nova do que tu?
- Sim, Eli. Bem... quase onze.
- Estou a pensar no que pensará o povo americano de um dos seus actores favoritos, um verdadeiro herói nacional... é isso que tu és, Nino, um herói nacional... a casar com alguém muito mais novo. Sabes, Nino, milhões de americanos apreciam-te e respeitam-te. Confiam em ti. Quero ter a certeza de que não fazemos nada para destruir esse respeito, para trair essa confiança.
:- Padre? - disse Cavello, olhando na direcção do padre. - Eu farei o que o senhor disser.
- Não acho que a diferença de idades seja um obstáculo - disse lentamente DiGioia. - Os italianos têm uma opinião diferente da dos americanos em relação a essas coisas, Sr. Hebron.
- Claro que sim - disse o supervisor, com veemência. - Eu compreendo isso. Mas, mesmo assim, padre, tem de compreender que os fãs do Nino são americanos, e temos de ter cuidadosamente em consideração as suas ideias, convicções e tradições.
- Eu continuo a achar que ela não é demasiado nova - disse teimosamente o padre DiGioia. - O pai dela consente. Está ansioso por ver as duas famílias ligadas.
56
- E a rapariga? - perguntou Hebron.
- Ela também está ansiosa - disse o padre, inexpressivamente.
Hebron assentiu. Levantou-se, caminhou em direcção às janelas, olhou para baixo, para as actividades do pátio. Era sábado, mas o estúdio estaria a funcionar em pleno até à uma hora ou talvez mais. Depois, os festejos de sábado à noite em Hollywood começariam. O próprio Hebron recebera três convites, um dos quais era para um concurso de Charleston, em Pickfair.
- Padre DiGioia - disse, sem se voltar -, posso dar-lhe uma palavrinha? Em privado, por favor.
O pequeno padre levantou-se imediatamente e aproximou-se. Parou perto de Hebron, com os olhos a piscar por detrás dos óculos grossos.
- Primeiro - disse Hebron, em voz baixa -, quero que saiba que tenho o maior respeito por um homem do clero.
- Obrigado.
- Já me encontrei com o monsenhor Mulcahy várias vezes. Um bom homem. Conhece-o?
- Sim - disse DiGioia.
- Abençoou o nosso filme In the Beginning Was the World, antes de ser lançado. Esse filme, profundamente religioso, foi exibido em vinte e um países estrangeiros, incluindo a África e a ateia Rússia, e rendeu mais de quarenta milhões de dólares.
- Fico feliz com isso - disse o padre.
- Sobre este casamento... - disse Hebron, baixando ainda mais o tom de voz. Continuava a olhar para o pátio, com a sua cara de falcão, metade sob a luz brilhante do sol e metade na sombra. - Tenho a certeza de que o Nino escolheu uma boa rapariga, uma óptima rapariga.
- Escolheu - confirmou DiGioia.
- Mas estou preocupado com a idade dela... com os dez anos de diferença de idades. Eu sei que acha que isto não tem importância. Mas homens honestos e sinceros podem discordar.
- Claro - disse o padre. - Compreendo a sua preocupação. Mas garanto-lhe que...
- O que eu receio - continuou Hebron -, e tenho este receio como judeu, como membro de uma raça que tem sido maltratada e injuriada desde tempos imemoriais... receio que se o Nino se casar com esta rapariga tão nova, não só possa afectar negativamente a sua carreira mas que se reflicta também em todos os italianos que estão na América. Vamos encarar os factos, padre: o seu povo não tem tido vida fácil para ultrapassar os preconceitos deste país contra italianos. "Trastes!" e coisas desse tipo...
57
- Isso é verdade, Sr. Hebron - o padre assentiu, com ar triste. Não tem sido fácil.
Mas se a maior estrela italiana do cinema casasse com esta rapariga tão nova, não vê como isso iria reforçar o preconceito? O senhor sabe e eu também sei que o Nino e a Rosa são ambos seres humanos bons e decentes, que merecem toda a felicidade que conseguirem juntos. Mas também sabemos que o público americano não vai ser tão tolerante e liberal. Veriam apenas uma estrela de cinema rica a arranjar uma rapariga dez anos mais nova do que ele, e diriam: "Estes italianos. Estes estrangeiros. Estes animais!" E o seu ódio desarrazoado ficaria ainda mais forte.
O padre piscou os olhos furiosamente.
- Não tinha pensado nisso, Sr. Hebron - gaguejou. - É algo que tem de se tomar em consideração.
- Oh, sim - confirmou Hebron. - É um problema. Se fosse apenas o futuro de Nino, eu diria para avançar com o casamento o mais depressa possível. Deus abençoe a Rosa e o Nino! Mas não gostaria de ver este casamento resultar em mais preconceitos e desprezo absurdo pelo grande povo italiano.
- Então, é contra o casamento, Sr. Hebron?
- Oh, não - disse o supervisor, rapidamente. - Não, não, não. Estes dois jovens estão obviamente apaixonados e devem poder procurar ter uma vida de felicidade juntos. Tudo o que sugiro é que o casamento seja adiado. Talvez um ano. Dois anos. Dentro de dois anos a rapariga terá vinte, e garanto-lhe que uma diferença de dez anos nessa altura terá um efeito muito menor no público americano. Uma mulher de vinte é considerada uma jovem senhora. Aos dezoito ainda é uma rapariga.
DiGioia assentiu lentamente.
- Padre, o Nino fará o que o senhor lhe disser; eu vejo isso. Quer pensar cuidadosamente no que eu disse e depois
aconselha-lo?
- Farei isso - concordou o padre. - Pensarei nisso e rezarei para decidir de forma sensata.
- Óptimo. Há outra coisa de que lhe queria falar e que não tem nada a ver com este assunto. Já há algum tempo que a Magna sente que deve participar mais activamente nos assuntos da comunidade de Los Angeles. Afinal, a indústria de cinematografia é a maior da cidade, e deveríamos estar a fazer um esforço maior para aumentar o progresso da cidade.
- Concordo, Sr. Hebron.
- Decidimos que a melhor forma de realizarmos isto é fazer contribuições directas às igrejas da cidade e templos, qualquer que seja a denominação, credo, ou seita, para encorajar a educação religiosa
58
e fomentar as qualidades de reverência e fé num ser supremo que fizeram este país grande.
- Uma esplêndida ideia, Sr. Hebron.
- Fui nomeado para administrar essas dádivas directas de dinheiro, e espero conseguir persuadi-lo a aceitar uma contribuição de cinco mil dólares da Magna Filmes para a sua igreja. Para ser usada no que quer que o senhor ache que sirva para encorajar a vida saudável e a moralidade na nossa grande cidade.
O padre apertou a mão dele fervorosamente.
- Obrigado, Sr. Hebron - disse, com os olhos húmidos. Obrigado, obrigado, obrigado.
Depois de Nino Cavello e o padre DiGioia terem partido, Eli Hebron disse a Henry Cushing:
- Acho que temos um ano, talvez dois. O que quero que faças, Hank, é encontrares uma querida para o Nino. Uma atrevida de aspecto fresco e sensual. Deve falar italiano.
- Já percebi, Sr. Hebron. Para lhe tirar a Rosa da cabeça.
- Exacto. Alguém com um ar sexy... percebes?
- vou descobri-la, Sr. Hebron.
- Óptimo - disse o supervisor. - E se souber cozinhar, tanto melhor.
Timmy Ryan estacionou o seu Nash em frente à loja de curiosidades de La Brea. Saiu do carro, a entoar animadamente Danny Boy. Tinha o uniforme vestido, e o boné de pala com a insígnia de latão: Magna Filmes. Atirou o boné para o banco da frente antes de trancar o carro. Agora, a única identificação que se via no seu uniforme azul de polícia era um adornado distintivo dourado no seu peito: CHEFE.
Ainda a cantarolar, dirigiu-se apressadamente às traseiras, corado e vigoroso. Subiu as escadas até à entrada de Madame Ortiz. Entrou, desapertou o colarinho alto e esperou.
Apareceu a bambolear-se através da cortina de contas. Os seus olhos, brilhantes e duros, olharam primeiro para o uniforme. Depois, o seu olhar subiu para a cara dele.
- Polícia privado - ele sorriu para ela.-Vê aqui? Diz chefe. Se fosse chefe da Polícia municipal, acha que estaria aqui agora?
- Que quer? - perguntou ela, desconfiada.
- Ler a minha sina - disse ele, cordialmente. - Só isso. A minha vida amorosa. Quero saber tudo acerca da minha vida amorosa, queridinha.
- Sente-se - disse ela.
59
Sentaram-se à frente um do outro na periclitante mesa. Ela deitou as cartas.
Vai conhecer uma nova mulher - disse-lhe ela.
Imagina! - maravilhou-se Timmy Ryan. - Uma nova
mulher!
- Um mulher bonita - disse Madame Ortiz, estudando atentamente as cartas engorduradas. - Ela vai traz-lhe muita flicidade.
- Ainda bem - disse ele.
- Mas cuidado com um homem estrangeiro, escuro - disse ela.
- Terei. - garantiu-lhe ele. - O marido dela?
- Sim - confirmou Madame Ortiz. - O marido dela. Cuidado com ele.
- vou ter de certeza - disse Ryan. - Que mais?
- Nada - disse ela. - Cinco dólar. Paga.
- Cinco parrecos por isto? - disse Ryan. - Tem aqui um belo negócio, mamã.
Tirou uma carteira do bolso de trás. Contou cuidadosamente cinquenta dólares em notas de dez, lambendo o polegar e o indicador. Empurrou as notas para o lado dela da mesa. Enquanto Madame Ortiz olhava com olhos arregalados para o dinheiro, Timmy Ryan tirou um Colt .38 da Polícia, de um coldre de anca, e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa, à sua frente. Voltou-o lentamente para que a boca apontasse para Madame Ortiz. Ela olhou para a frente e para trás, do dinheiro para o revólver.
- O quê? - disse.
- Agora, Madame Bolinha de Gordura - disse Timmy Ryan suavemente -, vou ler-lhe a sua sina.
A porta de rede do bangaló cinco estava aberta para trás.
- Que estão a fazer? - perguntou Eli Hebron. - A deixar as moscas entrar ou sair?
- Não temos moscas, patrão - disse Edwin K. Jenkins. - Que é que podemos fazer por si?
Hebron atirou o tratamento de duas páginas de Amante de Sonho para cima da secretária de Tina Rambaugh. Apropriou-se do copo de gim gelado da secretária de Jenkins, bebeu um longo trago. Voltou a colocar o copo no lugar. Fez um sinal com o queixo na direcção do tratamento.
-Nem tenho palavras para vos dizer quão mal isso está-disse.
- Nem tenho palavras.
- Claro que tem - disse Jenkins. - E vai arranjar.
- Pouco subtil - disse a rapariga. - Eu disse-te, Ed.
- Pouco subtil - confirmou o supervisor. - Correcto, Tina. Não
60
estão a escrever para o Mack Sennett, estão a escrever para mim. Agora, oiçam... o herói pode fazer coisas engraçadas na vida real. Essa parte está bem. Encaixa. Mas os sonhos dele têm de ser sérios. Completamente sérios.
- Não disse que isto era uma comédia, chefe?
- Eu disse que era e não era. E também uma tragédia enternecedora acerca de como um homem tenta tornar os seus sonhos realidade e falha. Se mostram os sonhos cómicos, perde-se a essência. Transforma-se tudo numa farsa. Já ouviram falar de um sonho cómico? É a sério. - Olhou para eles, de um para o outro. -Algum de vocês já ouviu falar de um sonho cómico? Não quero dizer um sonho estranho, quero dizer um sonho divertido, um sonho cómico. Seja enquanto estão a dormir ou um sonho acordado, uma fantasia? Eu nunca tive um sonho cómico, e acho que nunca ninguém teve. Sonhar é uma coisa séria. Têm de dar a essas sequências de sonho dignidade. Dão uma espécie de toque intelectual à história. Estou a conseguir fazer-me entender?
- Sim, Sr. Hebron - disse Tina Rambaugh. - O senhor quer que os sonhos do herói sejam tão importantes como a sua vida real.
- Mais importantes - disse ele. - Esses sonhos, no filme, vão ser os sonhos de toda a gente. Ao vê-los, dirão: "Sim, é isso. Já tive este sonho." Ou compreenderão como o nosso herói pôde sonhar aquilo. Na vida real, ele pode ser estúpido, mas os sonhos têm de ser significativos e verdadeiros.
- Quer outro tratamento, chefe? - perguntou Jenkins.
- Percebeste o que acabei de dizer?
- Claro, eu percebi - confirmou Jenkins.
- E tu, Tina?
A rapariga assentiu.
- Então, não quero outro tratamento - disse Hebron. - Comecem a trabalhar no argumento. Imagens significativas. Lembrem-se disso: imagens significativas.
À saída, fechou a porta.
- Ele é um génio - disse Tina Rambaugh.
- E um simplório - disse Ed Jenkins. - Está bem, de certa forma é um génio, e, por outro lado, é um simplório.
- Não somos todos? - disse ela.
- És tão estupidamente profunda que enjoas - disse ele, pegando no copo de gim. - Oh, ser jovem e virginal novamente.
- Então, voltamos a isso? - disse ela.
- Voltamos a quê?
- A minha virgindade.
- Não sejas tão irritantemente melindrosa! - disse ele. - Tens papel branco? Ora bem, vamos começar. Primeiro esboço. O Amante
61
de Sonho. Página um. A seguir aos agradecimentos, a câmara
entra....
Incomoda-te? - perguntou-lhe ela.
- Incomoda-me o quê?
- A minha virgindade?
Olhou para ela. Ela estava a olhar fixamente para ele por cima das secretárias. Viu uma cara gorda de menina, sem traços especiais. Por detrás dela, como um actor com uma máscara, estava outra cara que ele vislumbrava vagamente. Dura. Intensa. E solene.
- És impressionante, és mesmo - murmurou.
- Oh, sim - disse ela. - Sou impressionante.
Charlie Royce tinha muitas ambições. Uma delas, íntima, era ser presidente dos Estados Unidos, Outra, pública, era filmar uma cena de luta melhor do que a da versão de 1922 de The Spoilers, com Milton Sills e Noah Beery.
A maior parte dos supervisores mantinham-se afastados das cenas de acção e dos terrenos durante as filmagens, a não ser que fossem chamados por um realizador para resolver um problema difícil. Mas Royce dava cabo da cabeça dos seus realizadores, andando permanentemente atrás deles, mudando ângulos das câmaras, exigindo determinadas cenas, maltratando os actores e despedindo, ocasionalmente, o realizador em cena, terminando ele o filme.
Naquele sábado de manhã, o supervisor, o seu realizador, o operador de câmara, e a equipa estavam no estúdio interior quatro. Estavam a preparar-se para filmar a grande luta nosaloon entre fazendeiros e ladrões de gado emDrive toAbilene. Eddie Durant e os seus carpinteiros tinham montado um cenário realista, com bar, espelho atrás, mesas e cadeiras, piano vertical, portas de vaivém, uma escadaria para uma varanda, etc. A maior parte destas coisas eram de balsa, meia serrada, preparada para partir facilmente. Algumas mesas e cadeiras estavam precariamente equilibradas em pernas não coladas.
Os actores incluíam o fazendeiro e ladrão principais, actores de destaque e os seus grupos. Estava também um pianista com um chapéu de coco, camisa às riscas e suspensórios. Ele continuaria a tocar e a beber durante a confusão, para realçar o efeito cómico. Algumas dançarinas de salão abrigar-se-iam contra a parede mais distante, mostrando medo.
O fazendeiros usavam chapéus Stetson brancos ou cremes, camisas e calças de couro. Os ladrões usavam Stetsons pretos e sujos, camisas e calças de couro. Os ladrões tinham a barba por fazer e mascavam tabaco. Os fazendeiros estavam lavados, limpos e fumavam
62
cigarrilhas finas e elegantes. O bom principal era claro, o mau era escuro. O mau tinha também um bigode grosso e preto. O público americano sabia o que isso significava: era provavelmente estrangeiro, talvez até um anarquista. De certeza que não ia à igreja.
Normalmente, numa cena tumultuosa como esta, três câmaras filmariam tudo num take, e estava feito. Não haveria ensaios, para não dar cabo dos adereços. Mas, neste caso, levado pela sua ambição de conseguir filmar uma cena de destruição convincente e sem paralelo, Charlie Royce insistiu num ensaio prévio. Toda a gente se tinha comportado entusiasticamente. Tinham partido mesas e cadeiras de forma convincente. Tinham partido garrafas de uísque de chá, e a balaustrada da varanda tinha partido realisticamente quando um duplo embateu contra ela e caiu para um grande saco de serradura, fora do ângulo de filmagens.
Mas Charlie Royce não estava satisfeito. Disse ao realizador onde reposicionar as três câmaras. Mudou a posição das luzes. Mandou Eddie Durant refazer o cenário com mais adereços, facilmente quebráveis. E pensou numa bela cena: uma das dançarinas de salão ficaria perto do piano, com o braço sobre os ombros do pianista, e continuaria a acariciar a cara dele enquanto a mobília voava.
Às dez horas, estavam novamente prontos para filmar. Charlie Royce deixou-os à espera e saiu para o pátio. Encontrou Sammy, o contrabandista, a vender uma garrafa a Mac, no portão.
- Que é que tens? - perguntou Royce.
Sammy abriu a gabardina, exibindo as filas de bolsos cheios.
- Gim, scotch e bourbon - disse. - Do bom.
- Claro - disse Royce. - Quanto?
- Dois por meio litro completo e garantido.
- Seis por dez - disse Royce. - Sou um supervisor.
- Eu sei quem é, Sr. Royce - disse Sammy. - Está bem, para si, seis por dez. De quê?
- Duas de cada - disse Royce.
Levou Sammy para o estúdio interior quatro. As garrafas sem rótulo foram abertas e passadas em volta.
- Toda a gente bebe - ordenou Royce. - A equipa não, nem o pianista, nem as raparigas. Só os lutadores.
Passou no meio dos fazendeiros e ladrões de gado, observando-os cuidadosamente.
- Bebam - dizia-lhes. - É de borla; bebam. Já está pago. Que é que se passa contigo? - perguntou a um jovem fazendeiro.
- Eu não bebo, Sr. Royce - disse o rapaz, corando.
- Claro que bebes, miúdo - disse o supervisor friamente. Queres entrar num filme de Charlie Royce, não queres?
63
Obedientemente, o jovem bebeu um bourbon, engasgou-se e
cuspiu.
Todos riram, descontraindo-se. Royce esperou cerca de dez minutos e disse então ao realizador para se preparar. Os actores posicionaram-se. Alguns sorriam inexpressivamente.
- Agora, vamos ver acção a sério - gritou-lhes Charlie Royce.
Quero ver uma luta rancorosa. Sem restrições. Podem bater, dar
pontapés, arrancar olhos, morder. Quero ver sangue. Cinco dólares para o primeiro homem que sangrar! Desta é que é. Agora, é a sério. Mostrem-me alguma coisa de jeito se querem continuar a trabalhar na Magna. Muito bem, vamos filmar.
A luta começou, com as câmaras a rodar.
Um homem foi atingido e voou através das portas de vaivém. O espelho atrás do bar partiu-se. Mesas partiram-se. Uma cadeira foi lançada pela janela da frente. O duplo caiu da varanda. Alguém caiu pelas escadas e ficou inconsciente. Brandiam garrafas partidas no ar. As cortinas foram arrancadas. A cabeça de um homem foi partida com uma vara metálica. Os actores, embriagados, rodavam selvaticamente, caíam, levantavam-se a cambalear, andavam aos tropeções, batiam furiosamente em toda a gente. Arrancavam cabelos. Rasgavam camisas. Usavam pernas de cadeiras como cacetes. Caíam quadros das paredes. Chapéus altos voavam pelos ares. Ouvia-se um rugido enfurecido dos actores embriagados. O pianista martelava nas teclas, enquanto a bailarina lhe acariciava a face.
"Som", pensou Charlie Royce. "Se ao menos tivesse som!"
Perto do bar, dois actores, fazendeiro e ladrão, estavam frente a frente aos murros. Um nariz foi partido. O sangue jorrou, gotejou, pingou.
- Apanhem o sangue! - gritou Charlie Royce para os operadores de câmara. - Apanhem o sangue!
A Magna Filmes lidava com centenas de proprietários de cinemas, gerentes e agentes por todo o país. E havia outros - executivos bancários, políticos, repórteres, e críticos - a quem a Magna devia favores. Muitos desses homens seduziam raparigas com a ajuda da sua alegada ligação à Magna Filmes, SÁ. A rapariga acabava inevitavelmente no portão do estúdio em Hollywood, entregando a Mac uma carta dirigida a Marcus Annenberg ou Eli Hebron, pedindo um teste para "esta adorável, encantadora e talentosa jovem".
Geralmente, um olhar era o suficiente para ver que a rapariga não possuía mais atributos físicos do que os que já existiam em excesso em Hollywood. Mas não podia ser sumariamente rejeitada, e o seu patrocinador ignorado. Portanto, arranjaram um sistema de
64
"testes cegos". Eram testes muito rápidos, em que o cenário, a maquilhagem e as roupas eram eliminadas e a câmara não tinha filme. Podiam fazer uma dúzia numa hora.
Então, rejeitavam delicadamente a rapariga e apressavam-na a voltar para casa. Ela raramente o fazia. Uma carta zelosa era enviada ao seu patrocinador. Agradecia o interesse dele pela Magna Filmes, informava-o de que tinha sido feito um teste à sua protegida mas, lamentavelmente, a rapariga não tinha demonstrado potencial para uma carreira no cinema. E toda a gente ficava satisfeita. Excepto a rapariga, é claro.
Os testes verdadeiros eram tratados com seriedade e produzidos profissionalmente. A indústria estava a expandir-se a uma velocidade incrível. A afluência ao cinema podia estar em baixa temporária, mas as estatísticas anuais continuavam a subir; estavam sempre a ser necessárias novas caras, novos talentos. Dizia-se que o orçamento da MGM só para testes já excedia o milhão de contos por ano.
A Magna fazia cerca de uma dúzia de testes por mês, com a esperança de que dois ou três fossem bons. Os testes eram absolutamente necessários. Um actor podia ser atraente, gracioso e expressivo num palco da Broadway. E, depois, pela magia especial da câmara, aparecia no ecrã como um perfeito desajeitado, com dentes salientes e nariz de Pinóquio.
Todos os sábados ao meio-dia, executivos, supervisores, realizadores e operadores de câmara, com contrato permanente, juntavam-se na sala de projecção para visionar os testes mais recentes. Também passavam, ocasionalmente, testes emprestados por outros estúdios. Toda a gente podia expressar a sua opinião. A decisão final era geralmente da responsabilidade dos supervisores.
Como de costume, nesse sábado de manhã, a sala de projecção estava cheia para além da sua capacidade. Executivos em princípio de carreira e operadores sentavam-se nas coxias alcatifadas. A atmosfera era informal; o fumo era permitido e era hábito comentar o aspecto dos actores e o seu talento durante a exibição do filme.
O primeiro teste que viram era uma cena de amor, invulgar pois tanto o rapaz como a rapariga eram novos no cinema. Normalmente, num teste, um principiante seria emparceirado com um actor experiente para ajudar a diminuir a ansiedade do novato. Mas, neste caso, o jovem casal, casados, tinham vindo para Hollywood depois do sucesso nos palcos londrinos, onde contracenavam os dois em papéis principais.
A cena de amor foi filmada no exterior. Ela vem a correr por um prado, a rir. Ele persegue-a, tentando apanhá-la. Dão á volta a uma árvore, com ela a esquivar-se da mão dele. Por fim, ele apanha a mão
65
dela. Tenta puxá-la para si. Há uma cena cómica quando a árvore está de permeio, frustrando o abraço deles. Finalmente, ele deixa cair a mão dela, tira um canivete do bolso, gesticula uma pergunta: deverá gravar as suas iniciais no tronco da árvore? Ela baixa o olhar com embaraço juvenil, faz sinal que sim. Ele crava as iniciais dos dois dentro de um coração. Passam os dedos pela gravação, aproximam-se um do outro. Abraço. Beijo. Final.
A primeira, vez que a rapariga apareceu no ecrã, a correr pelo prado, alguém, na sala de projecção escurecida disse: "Olá!" Os comentários foram surgindo rapidamente e em bom número durante o teste.
- Ele parece um pau.
- Um pau? Ele parece uma prancha!
- A rapariga sabe mexer-se.
- Pena que ele não saiba.
- Aquilo é bonito... olhem para os olhos dela!
- As orelhas dele são muito grandes.
- Boa cena com a árvore. Quem realizou?
- Fui eu.
- Boa cena, Maxie.
- Obrigado. Ela seguiu bem as instruções.
- E ele não conseguiu?
- Ou não quis. Muito altivo. Muito nariz empinado.
- Muito britânico.
- Talvez estivesse nervoso.
- Nervoso? Ele representou Hamlet durante nove meses em Londres.
- Tentasse isso em Sheboygan.
- Gosto do aspecto dela.
- bom perfil.
-Em toda a extensão. Viram quando ela se virou? Ela tem qualidades.
- E tu gostarias de usufruir delas.
- Não sejas ordinário. Mas a resposta é sim.
- Oh, meu Deus, ele está a gravar a árvore ou a derruba-Ia?
- Aquele beijo... não gosto.
- Talvez sejam esquimós, a esfregar os narizes.
- Ele beija como uma cavala a comer.
Final. O ecrã branco piscou. As luzes acenderam-se. Olharam uns para os outros, a piscar os olhos.
- Charlie? - perguntou Hebron, cortesmente.
- Ela serve. Não é nenhuma Nazimova, mas não é má. Ele não é nada.
- Mais alguém? - perguntou Hebron.
66
Toda a gente pareceu concordar que a rapariga serviria, mas não o rapaz.
- Mas eles são casados - disse alguém. - Talvez ela não assine sem ele.
- Vai assinar - disse Eli Hebron. - O que Deus juntou, que ninguém separe excepto um contrato em Hollywood.
Ouviu-se uma gargalhada geral. Voltaram a recostar-se para o segundo teste. Era uma rotina de um acrobata, um acto que tinha sido representado em espectáculos de variedades durante nove anos. Aparece num dos lados de um celeiro com uma escada de mão, balde de tinta, pincel grande. Tenta levantar a escada, fica preso nela, cai, levanta a escada, sobe, descobre que se esqueceu da tinta, começa a descer, cai da escada, recomeça a subir com o balde de tinta, percebe que se esqueceu do pincel, escorrega pela escada, tinta a escorrer, pega no pincel e esquece-se da tinta, bate contra a escada, cai, espalha mais tinta por cima de si... e assim por diante.
- O tipo parece de borracha.
- O fato não tem muita graça.
- bom ritmo.
- Cara inexpressiva. Mais um imitador de Keaton.
- Keaton seria mais engraçado!
- Keaton conseguia dar graça a tudo.
- Ei, reparem! Boa queda de eu.
- É uma boa cena... descer os degraus com as nádegas.
- Meu Deus, ele não deve ter um osso no corpo.
- O ritmo é bom.
- Demasiado lento. Despacha-te, pá!
- E o acto de variedades dele.
- Agora, sabemos por que é que os espectáculos de variedades estão a morrer.
- Falta-lhe o principal.
- Não falta não, só não sabe utilizá-lo.
O teste terminou. As luzes acenderam-se.
- Ben? - perguntou Hebron a Stutrgart, o supervisor das comédias de uma e duas bobinas da Magna.
- Não - disse Stutrgart. - O que ele faz tem graça, mas ele não tem graça.
- Há alguma diferença nisso? - perguntou alguém. Stutrgart disse, irritado:
- Podes apostar a tua doce namorada em como há diferença. Não ouvi qualquer gargalhada enquanto estava a passar. Talvez algumas risadas. Mas não se sente o homem. Se lhe achasses graça, como ao Chaplin, estarias a rebolar de riso. Esquece-o. Não passa de um acrobata treinado. Não tem talento nenhum.
67
- Está bem, Ben - disse Eli Hebron -, vamos esquecê-lo. Mas se ele for para a Columbia e lhes der uma pipa de massa a ganhar, vamos lembrar-nos!
Mais gargalhadas.
- Passem o teste da Gladys Potts - pediu Hebron para a cabina de projecção.
- Gladys Potts? - disse alguém. - Deve ser da Pensilvânia. Pottsville, Pottstown e Chambersburg.
Ainda mais gargalhadas. Mas, quando ela apareceu no ecrã, os risos pararam abruptamente.
- Jesus! - disse alguém.
- Cristo santíssimo! - disse alguém.
Hebron viu imediatamente que Stan Haggard, o realizador, tinha entendido o que ele queria. Haggard tinha voltado a rapariga quase de perfil para apanhar aquela suave e sensual curva em S desde o cabelo enrolado, cabeça harmoniosa, pescoço direito, ombros largos e peito, passando pela cintura apertada, até ao alargamento da ancas e do rabo, que desaparecia na saia comprida. A rapariga movia-se um pouco rigidamente a princípio, mas deve ter sido por nervosismo ou devido à saia apertada. Descontraiu-se à medida que o teste prosseguiu; os seus movimentos começaram a fluir. Andava bem. Quando pegava em alguma coisa, segurava-a.
Hebron não conseguia desviar os olhos da imagem dela. O operador de câmara, Ritchie Ingate, deve ter usado uma gaze fina por cima da lente ou uma película fina de vaselina. A cena tinha uma luz suave. O cabelo enrolado da rapariga parecia ter um halo em volta. A sua pele brilhava. Quando se voltou de frente para a câmara, Hebron viu o lábio superior curto, o brilho dos dentes, expressão de expectativa e desejo juvenis.
Fazia os gestos de forma confiante, fazendo de modelo para o seu cliente de barbas: um lenço, um chapéu, um colar. Pôs uma gota de perfume no pulso nu, estendeu-o. O homem do monóculo curvou-se para cheirar apreciativamente, segurando nas pontas dos dedos dela.
- Lindo! - murmurou alguém.
No final, quando o velho libertino sai, ela fica a segurar na prenda e no cartão dele. Abre a embalagem. Põe o colar. Observa-se no espelho de corpo inteiro, dando voltas de um lado para o outro, orgulhosa. A sua cara, sem maquilhagem, mostra admiração e prazer.
Ela dirige-se para a câmara. O seu peito enche o ecrã, com as pedras preciosas a brilhar contra a pele sedosa. Depois, a câmara sobe muito, muito devagar. O colar, garganta esbelta, queixo infantil, e depois os seus eloquentes olhos a arder de cobiça e determinação. Fim.
68
As luzes acenderam-se. Ficaram todos sentados em silêncio, surpreendidos. Por fim...
- Quem dirigiu? - perguntou alguém, com voz rouca.
- Stan Haggard - disse Hebron. - Ritchie Ingate estava por detrás da câmara. Então? Alguém quer comentar?
- Eu fico com o figurão do chapéu alto - disse Ben Stutrgart. É um banqueiro ou um chefe de Polícia nato.
- Charlie? - disse Hebron. - Que é que achas?
-A rapariga é sensacional!-disse Royce imediatamente. - Do melhor. Se não tiver nada para ela, posso iniciá-la na próxima semana como professora primária. Não é o papel principal, mas é um papel interessante.
Hebron ficou satisfeito mas não o deixou transparecer.
- Mais alguém? - perguntou.
E, então, começaram todos a falar ao mesmo tempo. Nunca tinha visto um entusiasmo tão
unânime por um teste de uma rapariga inexperiente. Recostou-se, entusiasmado,
a ouvir, verificando que tinha estado certo. Ela tinha o talento, a presença, a força. E beleza que não era muita longe da câmara mas que filmava como dinheiro no
banco.
- Muito bem - disse, por fim. - Parece-me que estamos todos de acordo. O Abe Vogel foi quem a trouxe. vou fazer contrato com ela na segunda-feira. Charlie, tu começas
com ela.
- Óptimo - disse Royce, entusiasticamente. - A rapariga é uma vencedora, Eli.
Hebron ficou satisfeito com a aprovação dele.
- Temos de mudar aquele nome - disse. - Alguém tem sugestões?
- Gladys está bem - disse alguém. - O Potts tem de ir. Que tal Gladys Galore?
- Gladys Joy?
- Gladys Love?
- Gladys Sweet?
- E que tal Gladys Divine? - sugeriu alguém.
- Gladys Divine - repetiu Hebron. - Gosto. Charlie?
- Para mim está bem - disse Royce. - Suficientemente pequeno para caber numa marquise sem problemas.
- Então, fica Gladys Divine - disse Hebron. - Obrigado a todos. Tenham um bom fim-de-semana. Vemo-nos segunda de manhã. Sóbrios.
Ouviram-se gargalhadas e conversas em voz alta enquanto a sala de projecção se esvaziava. Eli Hebron ficou sozinho, sentado a meio da última fila. As luzes apagaram-se. Continuou sentado no pequeno teatro vazio, a meditar. Gladys Divine. As iniciais seriam
69
G D. o nome da sua falecida mulher era Grace Darling. Lembrou-se das grandes quantidades de peças de lingerie de cetim ainda empilhadas numa cómoda no quarto de vestir espelhado. A lingerie com monograma...
Não teve qualquer ataque de anomia. Mas, de qualquer forma, engoliu um comprimido cor de laranja. A preparar-se, supôs, para mais um fim-de-semana solitário. Preparou um gim bem servido com gelo e foi beberricando enquanto trabalhava na sua secretária. Verificou orçamentos e planeamentos. Rubricou contratos. Aprovou e rejeitou facturas. Assinou cheques e deitou fora apelos de caridade. A maior parte dos assuntos rotineiros da Magna passavam pela sua secretária. Ele era o herdeiro natural. Marcus Annenberg tinha enteados que eram todos médicos, em Cleveland, Minneapolis, Atlanta. Achavam o negócio dos filmes pouco respeitável.
(Muitos americanos pensavam o mesmo - reformadores, fundamentalistas, Billy Sunday, a Sociedade de Empenhamento Cristão, os homens da igreja, que gritavam semanalmente em angústia contra as orgias cheias de raparigas excêntricas e excesso de gim do Pacífico.)
Mildred Eljer fora passar o fim-de-semana fora. Tal como o resto do pessoal de secretariado. O executivos tinham saído. O edifício da administração estava em silêncio. As actividades no pátio acalmaram e pararam. Eli Hebron, a trabalhar, ouviu alguns gritos de despedida. Risos. Modelos T e Oaklands a começar a trabalhar e a transpor o portão velozmente. A calma veio; a calma absoluta de sábado à tarde. Continuou a trabalhar. Não tinha nada melhor para fazer.
Eram quase cinco da tarde quando terminou. A garrafa de gim estava vazia, o cesto dos papéis estava cheio. Levantou-se, espreguiçou-se, foi até às janelas para olhar para o pátio. Alguns varredores e pessoal da manutenção, mas não actores. Os actores tinham desaparecido, para as suas casas, jogos, festas. Para os seus amores...
Desceu para o pátio. Ouvia-se o som suave de um rádio, vindo da portaria; Gene Austin a cantar My Blue Even. Hebron vagueou por ali, com as mãos nos bolsos, a assobiar a melodia despreocupadamente. Caminhou lentamente por cenários desertos, por um salão empoeirado, salão de baile vazio, palácio de imperador abandonado. Os seus passos ecoavam.
Caminhou lentamente ao longo de uma rua de fachadas pobres, falsas. Uma parte de Nova Iorque de 1890 seguida por uma cidade do Oeste, seguida de uma plantação do Sul, seguida por uma Londres vitoriana. A rua estreitava até aos terrenos de trás e terminava
70
num pasto, onde viu um cão esquelético a dar voltas enlouquecido, a perseguir um tentilhão em queda. Voltou ao pátio, surpreendido. Um homem pequeno e gordo
que passava por ele, disse:
- Boa noite, Sr. Hebron - e continuou a andar. Ele viu aquela gabardina comprida e chamou:
- Sammy? - O homem parou e voltou-se.
- Sim, Sr. Hebron?
- Você é o vendedor?
- Sou sim, Sr. Hebron.
- Sobrou alguma coisa?
- Uma garrafa de gim. Do bom.
- Fico com ela.
Deu uma de cinco a Sammy. Quando o contrabandista procurou troco, Hebron disse:
- Está certo assim. Inesperadamente, o homem disse:
- Deus o abençoe!
- Obrigado - disse Hebron em voz baixa, satisfeito.
Foi para o escuro estúdio interior dois abrir a garrafa e beber um gole. Estava um homem a trabalhar no extremo oposto, um varredor. Hebron conhecia-o: Andy Qualquer coisa. Era veterano do negócio, que já vinha do início do biógrafo. Nunca desempenhara mais do que papéis insignificantes. Agora, era varredor. Toda a gente pensava que era fácil. Mas não era. Hebron deu um golo maior, voltou para o escritório.
Deitou gim para um copo e acrescentou gelo. Acendeu o candeeiro de secretária mas sentou-se na escuridão. Bebeu quase metade do gim antes de se inclinar para a luz. Abriu a gaveta da secretária, encontrou o número dela, ligou...
Uma voz rouca de mulher:
- Sim?
- Posso falar com a Gladys Potts, por favor?
- Momento. vou ver se está.
Esperou mais de um minuto. Mas depois ouviu o seu leve e ofegante:
- Sim? Fala Gladys Potts.
- Fala Eli Hebron.
- Oh! Desculpe a demora, Sr. Hebron, mas é uma pensão, e o telefone está ao fundo das escadas, na entrada, e eu não tenho telefone.
- Vai ter - disse ele. Silêncio.
- Vai ter o seu próprio telefone - disse ele -, porque o seu teste
71
foi um sucesso. vou ligar ao Abe Vogel na segunda-feira, e vamos acordar os termos. Quero fazer um contrato pessoal consigo.
Ela começou a chorar.
. Oh, Sr. Hebron - soluçou. - Não está a brincar?
Não, não estou a brincar.
- Fui mesmo boa?
- Foi mesmo boa! - assegurou-lhe ele. - Toda a gente gostou
de si.
-Toda a gente gostou de mim-repetiu ela num tom de tal satisfação sonhadora que ele susteve a respiração.
- Menina Potts - disse -, estava a pensar, se teria planos para esta noite, se gostaria de tirar um bocadinho para comer comigo. Podíamos ir a algum lado.
- Não tenho planos - disse ela, instantaneamente. - Nenhuns. Gostaria muito de o ver, Sr. Hebron. Para lhe agradecer tudo o que fez por mim.
Gratidão não era o que ele queria. Mas era, reflectiu melancolicamente, tudo o que tinha o direito de esperar.
Naquela tarde, enquanto Eli Hebron trabalhava sozinho no seu escritório na Magna Estúdios, Charlie Royce e Timmy Ryan iam a caminho do Valley. Royce conduzia o seu grande Chrysler Imperial
80, descapotável, de quatro portas com um pára-brisas recolhível para o banco traseiro. O carro tinha rodas raiadas, com sobressalente montado num suporte no pára-lamas dianteiro. Royce tinha acrescentado um pesado suporte com um holofote no estribo esquerdo. O carro era todo preto. Tal como Henry Ford, o supervisor achava que só homens extravagantes é que conduziam carros de cores claras.
A estrada de saída para o campo não estava pavimentada, tinha apenas zonas de empedrado, e sulcos de pó noutras. Tinha sido uma Primavera seca; uma coluna de pó
seguia-os. Royce tinha o carro nos quarenta, e uma vez quase perdera o controlo dele ao derrapar numa curva apertada. Mas Timmy Ryan, vestido à civil, fumava placidamente os seus Diitch Masters, olhando em volta benignamente, para laranjais e hortas.
- Ela atirou-se a ele, não foi? - perguntou-lhe Royce.
- À força toda - disse Ryan, a falar com o cigarro na boca. - Ela vai portar-se bem.
- Deste-lhe a totalidade dos cem? - perguntou Royce, desconfiado.
- Como combinámos - disse o polícia suavemente. - Em questões deste tipo, é melhor não ser forreta, Sr. Royce.
72
- Falta muito? - perguntou o supervisor, impacientemente.
- Próximo desvio à esquerda - disse Timmy Ryan, a olhar em volta. - Bela região. Boa terra de cultivo, dizem. Sou capaz de arranjar um campo de nogueiras para mim. Se correr tudo bem.
- Vai correr - garantiu Royce. - Até agora, tem corrido bem, não tem?
- É verdade, Sr. Royce.
- Alguma queixa acerca do dinheiro?
- Nenhuma - disse Ryan. - É extraordinário, o dinheiro. E sai tão depressa como entra.
Royce concordou.
- Aqui está o desvio, Sr. Royce. É aqui. Agora são só mais dois ou três quilómetros. Fica no vale do monte. Veja o meu filho mais novo, por exemplo. Só tem vinte
anos e anda atrás de mim dia e noite a pedir-me um carro novo. Estes miúdos!
- Que carro tens, Timmy?
- Um Nash Seis. com dois anos. Está em bom estado; eu trato dele. Já ouviu falar do Modelo A do Sr. Ford? Sai no fim deste ano, segundo dizem. Sou capaz de lhe ir
dar uma olhadela, se não for muito caro. Para o rapaz. É bom miúdo. Cá estamos, Sr. Royce. Dê a volta para as traseiras para esta beleza não ser vista da estrada.
Não vale a pena correr riscos, não acha?
Era uma cabana triste, estragada, com telhado de tela de alcatrão, erguida com tijolos num pequeno love de terra desbravada. Tinha uma raquítica e empoeirada laranjeira no pátio à frente da casa. Nas traseiras, um Modelo T coupé amassado de rodas com raios de madeira estava parqueado ao lado de uma tina de estanho assente em cavaletes. Algumas galinhas esqueléticas debicavam por ali. Um bode passeava perto da esquina da casa quando saíram do carro.
- Jesus - disse Royce enojado -, é uma trampa!
- É isso mesmo - disse Timmy Ryan, sorrindo. - Encontrámos a jóia da coroa num chiqueiro.
Sentaram-se todos na cozinha, em volta de uma mesa coberta com um oleado desbotado. A sala também não era grande coisa. Uma bacia de zinco com uma bomba manual.
Um frigorífico manchado. O fogão era de lenha. Via-se um calendário Monrgomery Ward de
1926 pregado a uma parede inacabada. Mostrava um bebé gordo a brincar com um cachorrinho. Havia gordura no oleado da mesa, brilho na bacia, sujidade no fogão. O cheiro era qualquer coisa.
À mesa, à frente de Charlie Royce e Timmy Ryan, estavam Bertha Potts e Leo Potts, mãe e irmão mais velho de Gladys. O pai, Waíter Potts, tinha "partido para parte incerta", segundo Bertha.
Era uma mulher rechonchuda e amarga, e vestia uma roupa de
73
algodão com nódoas. Durante a semana, trabalhava como cozinheira num White Castle, em Burbank. O seu cabelo tinha madeixas cinzentas, não era curto mas estava preso numa rede de cabelo rasgada. Olhos pequenos brilhavam numa cara gorda. A sua voz era aguda, lamuriante. Charlie Royce teve dificuldade em acreditar que a rapariga que vira na sala de projecção da Magna há poucas horas tivesse saído daquela pessoa repulsiva.
O irmão Leo era mais distintamente filho da sua mãe, em maneiras, se não mesmo na aparência. Era um jovem magro e pálido, com mechas de cabelo louro sujo a cair para a testa, tão brilhantes como a engordurada bacia. Vestia como um chulo de Hollywood, com calções largos a apertar abaixo dos joelhos, meias altas, um casaco de malha sobre uma camisa de colarinho mole com uma gravata larga, desajeitadamente apertada, que revelava um pescoço sujo. Imaginava que se parecia com Conrad Nagel e experimentava, muitas vezes, em frente ao espelho, levantar uma sobrancelha.
Leo, rindo-se, abriu quatro garrafas de cerveja caseira. Verteu a cerveja esverdeada para potes de geleia. Timmy Ryan pareceu achá-la saborosa. Royce bebeu um golo e afastou o pote para o lado, desagradado.
- Ora bem - disse -, vamos a negócios. Tem o certificado? Bertha Potts levantou-se com dificuldade, atravessou a sala até
ao armário aberto, por cima da bacia. Calçava chinelos rasos. Faziam barulho no linóleo gasto. Tirou um saco castanho de café em pó, abriu-o, tirou um papel dobrado.
- Então, era aí que o estava a esconder, mãe! - disse Leo Potts, mostrando os dentes afiados. - Olha só que esperta!
- Não havia de ser - resmungou a mãe. - Contigo a cheirar por aí...
Baixou o papel sobre a mesa à frente de Charlie Royce. Ele desdobrou-o para ler a certidão de nascimento de Gladys Alice Potts, nascida em Zanesville, Oaio, em 21 de Janeiro, 1912.
- Eu disse-lhe que ela tinha quinze anos - disse Bertha Potts.
- Ah, a doce e inocente criança - disse Timmy Ryan, satisfeito.
- Inocente? - disse Leo. - Só se for nas orelhas! Charlie Royce olhou-o fixamente.
- Que quer dizer com isso? - perguntou.
- Não digo as coisas duas vezes - murmurou Leo.
- Bem, vamos precisar disto - disse Royce, secamente. Dobrou a certidão, meteu-a no bolso interior do casaco.
- Só para copiar - disse Ryan rapidamente à mãe. - Vai tê-la de volta.
- Trate de a mandar-disse ela, a olhar para ele. - É tudo o que tenho.
74
- Há mais alguma prova da data de nascimento da rapariga? perguntou Royce. - Por exemplo, uma Bíblia de família?
- Uma Bíblia? - disse Leo Pots, esganiçado, tentando erguer uma sobrancelha. - Isso é para rir.
- Mau, mau - disse Ryan, rispidamente. - Nada de blasfémias. Vamos arranjar-lhe uma Bíblia, Sr.- Potts, e pode escrever nela a data do seu casamento e os nascimentos das suas queridas crianças. Pode ser, Sr. Royce?
- Boa ideia, Timmy. Trata disso - voltou-se para os outros. A rapariga vai ser contratada pelo estúdio na próxima semana. Afastem-se dela... entenderam? Não a podem visitar, e ela não vem cá sem a minha autorização. Entendido?
- Contratada? - choramingou Leo Potts, com a cara retorcida.
- Quer dizer que foi contratada para o cinema? Bem, lindinhos, quando é que eu posso fazer o meu teste?
- Já te disse - disse Royce friamente. - Logo que seja possível. Estão a ser pagos, não estão?
- Eu sei, mas, afinal... o cinema! - acendeu um Sweet Caporal desajeitadamente, com os dedos a tremer.
- Uma coisa de cada vez, rapaz - tranquilizou Ryan. - Uma coisa de cada vez. Não te preocupes; vais ter a tua oportunidade no ecrã prateado. Confia aqui no Sr. Royce, e ele mete-te lá. Não é verdade, Sr. Royce?
- Claro - disse o supervisor. Olhou para o zangado rapaz. Não balances o barco, Leo. Tens demasiado a perder. Não gostaria que causasses problemas.
- Ele vai portar-se bem - disse friamente Bertha Potts. - Ou eu parto-lhe a cara. Ainda tem idade para isso.
- Oh, mãe - disse o rapaz.
- Timmy-disse Royce, fazendo sinal com o queixo para a Potts.
Ryan tirou um maço grosso de notas de dez dólares do bolso interior do casaco. Um clip segurava-as. Estendeu-as por cima da mesa. Leo estendeu a mão, mas a mãe chegou primeiro. Dobrou as notas e enfiou-as pela frente da sua bata de algodão. Sorriu ironicamente para o filho.
- Se as queres - disse -, já sabes onde é que elas estão.
À saída, Royce e Ryan acenderam cigarros para anular o sabor a sordidez.
-A rapariga devia pagar-me - disse o supervisor - por a tirar daquele sítio.
- Ela há-de arranjar maneira de demonstrar a gratidão, tenho a certeza - disse Ryan secamente. - E que bom pedaço ela é. Pouco maior do que a sua mão. Mas muito mais divertida... hem, Sr. Royce?
75
Ela pediu-lhe para não a ir buscar.
- Não quero que veja onde moro - disse ela, ao telefone. - É uma casa tão feia.
- Está bem - disse. - Então, encontramo-nos noutro sítio?
Desejou que ela não escolhesse um hotel ou restaurante conhecidos. Se fosse visto com ela em público, estaria na coluna de Louella na segunda-feira. "Que conhecido e bonito figurão do cinema fez aparentemente uma recuperação completa do desgosto da morte da sua linda mulher, há um ano? Pelo menos, foi visto no sábado à noite acompanhado por uma linda desconhecida, num dos melhores restaurantes da cidade. Bem-vindo à terra dos vivos, E. H.!"
Ela sugeriu que se encontrassem em frente ao Graumans Egipsio. Concordou prontamente e disse-lhe para procurar um automóvel Packard amarelo com capota branca. Perguntou se gostaria de fazer um piquenique nocturno na praia. Ela disse que gostaria muito. Ele disse-lhe para trazer uma camisola ou casaco; podia estar frio.
Foi para casa no LaSalle. Pediu à Sr.B Birkin para pôr um jantar de piquenique para dois num pequeno cesto. Encheu a garrafinha grande com gim, a pequena com scotch. Mandou a Sr.3 Birkin pô-las no cesto. Depois, subiu para tomar banho. Enquanto se vestia
- blazer azul, calças de flanela brancas, um lenço de seda no pescoço - percebeu como estava a gostar daqueles planos e preparativos. Tentou não sonhar com a cena dessa noite, para evitar desilusões. Engoliu um comprimido cor de laranja e saiu.
O passeio em frente ao teatro estava cheio, mas ele viu-a quase imediatamente. Estava junto à entrada, a olhar ansiosamente para os carros que passavam. Dois marinheiros em fatos brancos de Verão tinham parado a alguns passos dela e estavam a deitar-lhe o olho.
Ela vestia uma saia de pregas curta, de seda branca. Sapatos pretos redondos com tira abotoada, denominados Mary Jane. Uma blusa de marinheiro larga, descaída na anca. A gola larga tinha um lenço azul mais escuro a remata-la. Hebron percebia o interesse dos marinheiros.
Parou à frente dela, inclinou-se para abrir a porta.
- Entre - sorriu.
Ela subiu para o carro, com um pouco de carne branca a ver-se acima das meias. Um dos marinheiros assobiou.
Ela bateu a porta, inclinou-se para ele imediatamente e beijou-lhe a face.
- Estou tão feliz por o ver! - disse. - A esquadra anda por aí. Que carro tão giro!
- Não tem nem metade da tua beleza - disse ele. - Estás linda!
- Verdade? Não sabia o que vestir. Está mesmo bem?
76
- Perfeito - garantiu-lhe ele. - Muito náutico. Tens espaço para a camisola e para a bolsa? Podes pôr os pés no cesto; não o estragas.
- Está bem - disse ela.
Levantou os pés, e enrolou as meias até abaixo do joelho.
- Tenho joelhos de Herbert Hoover - gracejou ela. - Não me importo.
- Eu também não - disse Hebron. - Vamos para a praia. Está bem?
- Como quiser, Sr. Hebron.
Ele entrou cautelosamente no tráfego. Parecia que toda a gente em Hollywood se dirigia para a praia.
- Acho que me podes chamar Eli, não achas?
- Gostaria muito - ela acenou. - Mas, quando estiverem outras pessoas por perto, vou chamar-te Sr. Hebron.
- És muito sensata - disse ele. - E como é que te chamam os teus amigos... Glad?
- Às vezes - disse ela.
- Bem, eu vou chamar-te Glad. Glad e Eli. Parece que combinam.
- Hum. - Ela suspirou, satisfeita. Aconchegou-se para mais perto dele, agarrou levemente o seu braço direito com as duas mãos.
- Tens mesmo 18 anos, Glad? - perguntou-lhe ele.
- Tenho. Dezoito a caminhar para oitenta.
- Espero bem que tenhas - ele sorriu. - Sabes, fazemos investigações sobre toda a gente antes de assinar contratos. Pareces tão nova com a tua saia curta e blusa de marinheiro. Mas talvez seja por eu ser tão velho.
Ela afastou-se um pouco e olhou para ele.
- Quantos anos tens, Eli?
- Tenho 40. Achas que sou velho?
- Claro que não - voltou a aconchegar-se. - Além do mais, gosto de homens mais velhos. Os rapazes da minha idade com quem saio só estão interessados numa coisa. Percebes?
- Receio que os homens mais velhos com quem sais também estejam.
- Tonto! - disse ela suavemente, apertando o braço dele. Continuaram por algum tempo em silêncio. As janelas estavam
abertas, mas ele sentiu o aroma dela. Um perfume doce, jovem, de sabonete. Ela não usava chapéu; o seu cabelo escuro e curto agitava-se com a brisa.
- Por que é que perguntaste se eu tenho dezçíto anos, Eli?
- Já te disse... o que tens vestido esta noite. É lindo, mas não é
77
a forma como te vejo. Eu vejo-te mais madura, mais sofisticada. Mundana. Foi por isso que pedi aquele fato para o teste.
. Odiei a primeira coisa que ela me fez vestir. Oh, o fato que a
obrigou a vestir-me era tão bonito, Eli.
. Tu é que o fizeste bonito - disse-lhe ele.
Obrigada - disse ela em voz baixa. Passado algum tempo
disse: - Eli, aquilo que me puseste a fazer... a balconista que decide que vai deixar de ser pobre, e aceita uma prenda de um desconhecido... foste tu que inventaste aquilo?
- Claro que sim - disse ele. - Uma produção Hebron original.
- Houve algum motivo para quereres que eu fizesse aquela cena específica? Algum motivo especial?
- Achei que o farias bem - disse ele. - Pensei que compreenderias uma rapariga assim. Talvez fosse por causa do que disseste quando te perguntei por que é que querias entrar no cinema. Disseste que não querias ser empregada de mesa; que querias ser rica. Foi a primeira vez que alguém foi tão honesto comigo.
- Era a verdade - disse ela.
- Eu sei que era - disse ele. - Queres fumar? Tenho uma lata de Luckies no bolso do casaco, do teu lado.
- Obrigada - disse ela -, mas tenho os meus. Fatimas. Queres um?
- Não, obrigado. Mas podes fumar. E acende-me um Lucky, se fazes favor. É melhor não tirar as mãos do volante. Não sou grande condutor.
- És um óptimo motorista - protestou ela. - Não sei guiar.
- Eu ensino-te - disse ele. - Gostavas?
- Oh, Eli - disse ela -, és tão bom para mim.
Acendeu os cigarros de ambos. Segurou os dois. De vez em quando, punha o Lucky Strike nos lábios dele para ele dar uma passa. Fez isto naturalmente, sem espalhafatos, o que lhe pareceu amoroso.
Foi por Wilshire Boulevard até à praia. Depois voltou para norte, para a escuridão, para lá da Promenade.
- Encomendei a lua para hoje - disse ele -, mas Deus deve estar em greve.
- Está perfeito assim. O mar é lindo. Consegues ouvi-lo, Eli?
- Sim - disse ele -, consigo ouvi-lo. A minha mulher e eu estávamos a pensar construir uma casa de praia nesta zona. Mas depois ela morreu. Talvez construa em Malibu. Está a começar agora.
- Ela era encantadora - disse Gladys Potts em tom sumido.
- Sim. Era. Tu fazes-me lembrar ela de muitas maneiras. Aparência diferente, é claro. Não têm semelhanças físicas, embora
78
sejam da mesma altura. Mas são as duas livres, agradáveis e abertas. Tens namorado?
- Oh, não - ela riu-se. - Não sou a garota de ninguém.
- Gostarias de ser a minha garota? - riu-se também. - Eu podia ser o teu velhote rico.
- Gostaria muito - disse ela, pondo a cabeça no ombro dele.
- Devíamos procurar um sítio para parar e fazer o nosso piquenique. Não sei o que é que a cozinheira pôs no cesto. Espero que seja bom; tenho fome. E tu, tens fome?
- Uh.. huh.
- Sei que está aí uma garrafa de gim e uma de scotch para ti. Se quiseres beber uma bebida agora...
- Não - disse ela, suspirando. -Agora não. Na verdade, eu não bebo, Eli. O scotch que bebi no teu escritório foi a primeira bebida que provei em toda a minha vida.
Ele voltou a cabeça por um momento, para olhar para ela, espantado.
- Estás a brincar?
- Não, é verdade. Já bebi-cerveja caseira. Mas uísque, nunca.
- Gostaste?
- Não é mau. Parece um remédio.
- Esta noite, esperimenta o gim, Glad. Talvez prefiras.
- Está bem. Farei o que quiseres, Eli.
- Acho que já andámos o suficiente. Vamos experimentar a praia.
Não havia movimento. Fez inversão de marcha cuidadosamente, e voltou a dirigir-se para sul. Depois, saiu da estrada, para a berma de terra batida. Desligou as luzes. Estava uma noite escura. A lua estava encoberta por uma camada de nuvens deslizantes. Uma brisa vinda do mar agitava as palmeiras e os aloés e eucaliptos nos montes, por cima da estrada. O ar cheirava a sal, algas, ao pesado almíscar do mar alto.
- Está muito frio para ti? - perguntou ele.
- Não - respondeu ela. - Eli, podemos abraçar-nos um bocadinho?
- Está bem.
Ela aconchegou-se avidamente nos seus braços. Uma mão subiu para a parte de trás do pescoço dele. Os seus lábios eram doces, macios. Ele beijou-a suavemente, a princípio. Beijou os cantos da boca dela. Roçou os lábios dele levemente. Depois, a sua língua saiu. A sua boca abriu-se instantaneamente. E, então, as suas línguas tocaram-se, comprimiram-se. Ela afastou-se.
- Isto era um beijo à francesa, não era? - perguntou, ofegante.
- Sim.
79
Eu sabia que era.
Comprimiu-se contra ele, com a boca aberta e a língua a sondar. Ele sentiu o corpo dela ficar quente e a palpitar. Afastou-se dela. Glad - disse, em voz abafada -, vamos abrandar.
- Não gostas?
- Adoro.
- Então? Está bem - disse ela, escondendo a decepção. Então, vamos só acariciar-nos.
Abraçou-a. Ela emitiu um som fundo, um ronronar de satisfação. Tocou no cabelo dela timidamente. Estava húmido; cheirava a mar. Passou os dedos amorosamente pela têmpora e queixo, pelo pescoço macio. Depois, afastou-a delicadamente. Ficaram sentados por um momento, na escuridão, voltados um para o outro, a observarem-se. Ele fechou as janelas.
- Que é que estás a fazer? - murmurou ela.
- Não tenhas medo. vou acender fósforos. Quero ver-te. Tirou um fósforo de madeira de uma pequena caixa Diamond e
acendeu-o. Apareceu uma pequena chama. Viu-a reflectida, a tremeluzir, nos olhos dela. Ela olhou para ele, sem medo. O fósforo ardeu até ao fim; a escuridão rodeou-os. Acendeu outro e segurou-o perto da cara dela, e olhou. Ela não pestanejou. Acendeu mais dois, movendo as chamas lentamente em volta. Depois, ficaram novamente sentados na escuridão.
- Não compreendo - disse ele. - Agora pareces tão nova, tão menina. Intocada. Mas eu vi alguém mais profundo, mais maduro. Alguém trocista e misterioso. Foi assim que apareceste no teste. Foi assim que a câmara te viu.
- Dizem que a câmara nunca mente, Eli.
- Não tenho tanta certeza disso. Agora, estou confuso com a tua aparência, o teu aspecto neste momento, e a minha imagem de ti. A câmara apanhou a imagem... toda agente concordou com isso... mas não é a mesma de agora. É estranho, não é?
- Eli, talvez fosse a maquilhagem, as roupas e as luzes.
- Claro - disse ele. - Foi isso mesmo.
- Estás desiludido comigo?
Debruçou-se para a frente rapidamente, pôs a cabeça no colo dele, com a cara encostada.
- Eu passo a usar, Eli - murmurou. - Se quiseres.
- Não, não - disse ele, acariciando-lhe o cabelo. - Não, não faças isso. Es tão amorosa, tão doce. Fica quieta só um bocadinho.
Acariciou o cabelo dela, devagarinho. com a ponta do dedo tocou na parte interior da orelha, no lóbulo, curva da bochecha, no olho fechado, lábios quentes, pescoço descoberto. Na escuridão, não podia
80
ver o que os fósforos tinham revelado. Via apenas a imagem filmada e visionada. O sonho...
- Uma bebida - disse ele, de repente. - Preciso de uma bebida. E de comer alguma coisa. Vamos experimentar a praia? Tenho um cobertor no banco de trás.
Encontraram um lugar na areia, protegido do vento por uma duna baixa. Mas conseguiam ver o brilho suave do mar. Era uma piscina de mercúrio, ligeiramente agitada. Sentaram-se no cobertor de pernas cruzadas, de frente um para o outro. Abriram o cesto com entusiasmo, rasgando as embalagens. A Sr.ê Birkin tinha embrulhado galinha frita fria, uma tigela de salada de batata, tomates, rabanetes, pepinos, fruta fresca, fatias de torta de pêssego, um termos de café, que ainda estava quente. Gladys começou imediatamente a comer.
- Posso provar o gim, Eli?
Ele tirou a rolha, estendeu-lhe a garrafinha comprida. Ela bebeu um golo cauteloso, e depois um maior.
- Oh - disse -, gosto disto. Tem um sabor engraçado. Parece fruta amarga. Agora, bebe tu um bocadinho...
Ele assim fez. Escavaram um pequeno buraco na areia para o frasco, para não se entornar. Trincaram as pernas de galinha e passaram um ao outro salada, tomates, rabanetes e torta.
- Fala-me de ti, Glad. Abe Vogel disse que eras de Nova Jérsia, mas é tudo o que sei.
- Abe baralhou tudo - disse-lhe ela, atarefada a comer. - Ele disse Hackensack, Hohokus... assim. Montclair, Nova Jérsia... é daí que sou. É na parte norte do Estado.
- Eu sei onde é.
Disse que o pai ensinava Matemática numa escola particular da zona. Estava quase a reformar-se. A sua mãe também tinha sido professora, de Literatura, mas tinha-se reformado há cinco anos. Gladys era filha única.
- Eras feliz? - perguntou Hebron.
Ela garantiu-lhe que tinha tido uma infância idílica. Tinha surgido tarde nas vidas dos pais: eles eram doidos por ela. Tivera tudo o que queria, pois gostavam muito dela. Falou do seu lindo pai, da sua bonita mãe. Da rua larga, ladeada de árvores, em que viviam. Da casa alta com pilastras brancas. Jardins. Flores por todo o lado...
Ele percebeu o tom sonhador da voz dela, a saudade silenciada. A sua imaginação febril preencheu as lacunas: uma criança de cabelos compridos, de bata branca, a saltitar alegremente num relvado aveludado. Cão a acompanhar. Amigos alegres. Barulho de carros numa rua tranquila. A acariciar o focinho do velho cavalo que puxava o carro do gelo. Uma sala de aulas soalheira. Odores perfumados
81
numa cozinha radiosa. Orações rezadas de joelhos à hora de deitar. Tudo afectuosidade, perfeição e beleza.
. Vamos dar um passeio - disse ele. - Pela praia. Atira tudo
para o cesto. Eu levo a garrafa.
Passearam de mãos dadas: jovens amantes. Deram pontapés em conchas, caminharam por cima da algas e riram-se ao ouvi-las estalar. Paravam de vez em quando, para se beijarem, beijos curtos e atrevidos,com a língua dela a meter-se na boca dele.
- Ooh - suspirou ela. - Gosto mesmo disso.
Havia luz suficiente para ele ver os grandes olhos dela e os lábios entreabertos. A carne dela parecia-lhe tão transparente que um toque poderia deixar uma marca. Uma vez, quase pensativamente, ela acariciou-o levemente entre as pernas. Mais com curiosidade do que com luxúria. Ele não conseguia entendê-la.
Parou de repente, a olhar para o mar.
- Olá, mar! - gritou. Atirou a cabeça para trás. - Olá, céu! Olá, nuvens! Sou a Gladys Potts!
Ele segurou-a pelos ombros, voltou-a para olhar para ele. Estava a rir.
- Não - disse -, não és Gladys Potts. Esqueci-me de te dizer. Vamos mudar o teu nome. Agora és Gladys Divine.
Ela calou-se.
- Não gostas? - perguntou ele, ansioso.
- É lindo! - começou a chorar e enterrou a cara no peito dele.
- Lindo, gosto muito dele!
Afastou-se dele, e voltou a cara para cima novamente. Os seus olhos estavam molhados e brilhantes.
- Olá, lua! - gritou. - Sou a Gladys Divine! Vais ouvir falar de mim!
Ele pôs um braço por cima dos ombros dela, abraçando-a. Passearam em silêncio, descrevendo um círculo largo, e voltaram para trás.
Ela olhou para a rebentação das pequenas ondas.
- Eu vou nadar - disse.
- Não - disse ele. - Não faças isso.
- Passear na água?
- Está bem. Até aos joelhos. Mais não.
Ela esperou até estarem novamente no cobertor. Depois, desapertou os seus Mary Janes, descalçou-os com um impulso. Baixou as meias de seda e despiu-as. Correu até à água. Ele seguiu-a, ansioso.
- Oooh - disse ela, segurando a saia no alto das coxas brancas.
- Fria, fria, fria.
- Não vás muito longe - avisou ele.
82
Mas ela continuou a andar até ao mar começar a bater nas rendas que adornavam as suas calcinhas de nylon. Começou a andar rapidamente de trás para a frente, agitando a água para fazer espuma, a gritar de alegria. Ele ficou na areia seca, a beberricar gim da garrafa de prata, a observar a felicidade dela. Um pai indulgente.
Ela saiu a correr, a dar gritinhos com o frio. Tinha a saia branca de pregas colada às coxas. Tremia exageradamente, com os braços em volta do corpo. Ele levou-a rapidamente para o cobertor. Ela ficou de pé, a segurar a saia. Ele ajoelhou-se à frente dela. Tirou o lenço de seda, limpou as pernas dela até ficarem secas. Ela olhou para ele muito séria enquanto ele a limpava cuidadosa e zelosamente. Tocou na cabeça dele.
- Estou a ficar doida por ti! - disse.
Deitaram-se numa parte do cobertor. Ele pôs a parte livre sobre as pernas dela. Ela estava a tremer. Abraçou-a. Ela pôs os joelhos e os pés entre as coxas dele. Parou de tremer.
- Está melhor? - perguntou ele.
- Gladys Divine - disse ela, sonhadoramente. Depois: - E tu, Eli?
Ele contou-lhe algumas coisas. Como os seus pais tinham morrido com gripe, e um irmão mais velho com paralisia infantil. Como o seu tio, Marcus Annengerg, tinha
pago os seus estudos na NYU, e depois o trouxera para o oeste e o iniciara no negócio. Primeiro, como leitor, depois como escritor de guiões, assistente de realizador, realizador, supervisor...
- Gostas do cinema? - perguntou ela, inocentemente.
- Oh, sim - ele sorriu. - É um mundo. Um mundo novo...
Tentou dizer-lhe outras coisas, coisas pessoais, mas ela aconchegou-se mais contra ele, e a sua língua quente começou a lamber-lhe o pescoço. Não conseguiu continuar.
- Acaricia-me - disse ela. - Por favor, Eli.
- Está bem.
A pele das pernas dela estava fria, gelada pela água do mar. Mas, tocando-lhe, sentia o calor a começar a aparecer, o sangue a circular. O ventre dela, abaixo do umbigo, entre as cuecas e o soutien, era liso e palpitante. Costelas ossudas. Ela era tão magra, com os ossos tão marcados.
As costas magras e macias voltaram-se quando ele as acariciou. Ela entregou-se-lhe. Não abrindo os braços e as pernas mas rendendo voluntariamente a sua carne ao toque curioso dele. Elástica; ela era elástica. Jovem e ardente. Tudo o que ele queria era acariciar e explorar.
Lembrou-se de repente de que o sexo poderia tornar-se viciante. Uma droga. Como a nicotina ou o álcool. Ou os comprimidos cor de
83
laranja. Para dimimuir a angústia... Imaginou imediatamente um filme: um homem viciado em sexo. Viu imagens e cenas: um homem escravo... Mas era um filme impossível de filmar, a não ser que fossem usadas imagens surrealistas.
E Marcus Annenberg teria razão: não venderia.
O escritório de Marcus Annenberg parecia um apartamento do Bronx. Estava cheio de mobília ultra-estofada com padrões de flores castanhos. Fotografias a cores de parentes mortos em molduras douradas. Cortinas pesadas de veludo castanho, perpetuamente fechadas. Uma taça de maçãs de cera. A iluminação vinha de um candeeiro de pé em madeira com um quebra-luz de seda castanha, em forma de pirâmide, com um remate de franjas.
Annenberg estava na sua enorme secretária redonda, com cinquenta pequenos compartimentos e, que Eli Hebron soubesse, pelo menos cinco compartimentos secretos. O presidente da Magna Filmes, Inc. estava sentado numa poltrona de orelhas de pele castanha. Estava tapado até à cintura com um xaile de lã tricotado pela mulher. Caía-lhe até aos tornozelos. Os chinelos apareciam por baixo.
Estava sentado com as mãos manchadas entrelaçadas de forma lassa sobre a barriga. Os seus olhos de pálpebras descaídas pareciam mais pesados do que habitualmente.
Quando falava, acumulava-se-lhe saliva branca nos cantos da boca.
- Eles estão a protelar - disse a Hebron numa voz irritada. Que é que nós estamos a pedir... a lua? Há dois anos, o empréstimo foi autorizado num instante, sem qualquer pergunta. Agora, mandam um intruso para meter o nariz. Não gosto disto.
- Eles acabam por o conceder, tio Marc - disse Hebron, para o acalmar. - Sabem que nós somos bons pagadores.
- Vão conceder... mas quando? O negócio está mau, admito-o. E é por isso que muitas casas estão no mercado por uma ninharia. Agora, é que é a altura de comprar. Não concordas, Eli?
- Não só para comprar cinemas mas também para aperfeiçoar a produção. Melhores filmes. Não é o momento de abrandar, tio Marc.
- Concordo duzentos por cento. A minha garganta - disse o velhote, tocando na maçã-de-adão. - Tem alguma coisa que não me agrada. Esta manhã, quando acordei, senti-a.
- Que é? Que é que sente?
- É como se tivesse alguma coisa entalada na garganta. Talvez como uma migalha. Quando engulo, dói.
- Quer que telefone ao Dr. Blick?
84
- Esse charlatão? Talvez amanhã ele a leve e eu fique bem. Eli, viste a primeira montagem de Red Robin?
- Sim, tio Marc. Decepcionante.
- Decepcionante? Ah!
- A Margaret Gay porta-se sempre melhor nas cidades pequenas. Aquelas imagens ainda não estão bem. Só as cidades grandes.
- Achas que ela se droga? - perguntou o velhote, a olhar fixamente para Hebron.
- Gay? Tomar drogas? Claro que não!
- Ouvi dizer. - Annenberg assentiu tristemente. - Aquilo que se põe no nariz... o que é?
- Cocaína? Onde é que ouviu isso acerca da Gay?
- Por aí - disse vagamente o velhote. - Não quero escândalos, Eli. Não podemos ter um escândalo. Se achares que pode ser verdade, livra-te dela. Esse judeuzinho de Boston não pode ter desculpas para não nos dar o dinheiro.
- Não vai haver escândalo.
- És bom rapaz, Eli. Um bom rapaz... - cabeceou.
- Quero ler-lhe uma sinopse, tio Marc.
- Então, lê. Estou a ouvir.
Hebron leu devagar e em voz alta o resumo de O Amante de Sonho, de Edwin K. Jenkins e Tina Rambaugh. Leu rapidamente as sequências dos sonhos a serem filmadas com uma lente de difusão. Mas enunciou cuidadosamente as partes que sabia que Marcus Annenberg iria gostar - as desventuras cómicas do herói na vida real. Terminou, dizendo como o leiteiro desistiria das suas fantasias e se voltaria para uma existência feliz com a sua mulher. Mas esta cena final seria filmada com uma lente de difusão para deixar o público na dúvida se a felicidade futura do herói não seria também um sonho condenado.
Hebron acabou de ler e levantou o olhar. O queixo de Annenberg estava caído sobre o peito. Respirava profundamente, com regularidade, com um som fundo. O supervisor levantou-se sem barulho, e começou a dirigir-se à porta em bicos de pés.
- Eli - chamou o velhote em voz rouca. Hebron voltou-se.
- Sim, tio Marc? ,
- Muda o final. Não é americano.
Não era necessário passar pelo átrio do Hotel Beverly Hills para ir para os bangalós. Cada um tinha a sua entrada privativa, ao longo de um caminho aberto num denso jardim tropical que rodeava a
85
piscina. Os bangalós eram alugados por cem dólares por dia. Ou, mais habitualmente, por noite.
Charlie Royce vivia no bangaló seis, que se chamava Maui. (Todos os bangalós tinham o nome de ilhas havaianas.) Alugava-o ao mês e pagava dois mil e quinhentos dólares por um apartamento peaueno e confortável: sala, quarto, casa de banho, uma pequena kitchenette com um novo Kelvinator. O bangaló tinha também um Atwater Kent e um armário Pooley. Tanto o fonógrafo como o rádio funcionavam directamente com energia eléctrica, sem baterias B. O rádio tinha antena incorporada.
Royce, desde os seus anos como promotor do Circuito Chautauqua, sentia-se confortável em quartos de hotel. Gostava da comodidade, do serviço de limpeza e do serviço deuartos. Tinha pouco de seu. Não tencionava alugar ou comprar casa antes de casar. Ou estava a ganhar dinheiro suficiente para poder comprar uma mansão em Beverly Hills maior e mais luxuosa do que a de Eli Hebron.
Raramente recebia, e quando o fazia era geralmente com coisas encomendadas ao próprio hotel. Portanto, podia transformar a sala do seu bangaló numa espécie de escritório privado. Tinha pedido ao hotel para instalar uma secretária, cadeira rotativa, armários de arquivos, um pequeno cofre e um ditafone, que gravava num disco. Tinha comprado recentemente uma das máquinas de escrever eléctricas Remington, e estava a ficar bastante hábil na sua utilização.
Charlie Royce nunca tinha sido visto em público duas vezes com a mesma mulher. O seu nome nunca aparecia nas colunas de mexericos ou revistas do meio, embora fosse mencionado com frequência em jornais de negócios. Na sociedade de Hollywood, era considerado um solitário chato, com os seus fatos completos de lã e sentido de humor inexistente. Um homem com quem jantou uma vez, fez o seguinte comentário, acerca dele: "Passei uma semana com o Charlie Royce, a noite passada." Também era essa a opinião de Hollywood: um homem talentoso, um homem ambicioso. Talvez, um dia, um homem importante. Mas com a mesma vivacidade e entusiasmo de Calvin Coolidge. Charlie Royce nunca tinha sido convidado para Pickfair.
Como supervisor da Magna, Royce podia ter uma estrela diferente todos os dias. Mas não queria pôr em perigo a sua posição, ganhando fama de seleccionador de divã. Por isso, de vez em quando, pedia a Bea Winks para lhe mandar uma profissional, apesar de ser do tipo de homens que achavam humilhante ter de pagar a uma mulher. Mas um relacionamento íntimo com uma companheira apaixonada não fazia parte dos seus actuais planos. Gostava de palavras cruzadas, que fazia com uma caneta de tinta permanente Watennan.
86
Royce era um homem grande e rude e tinha uma postura ameaçadora: arqueado, agressivo. As suas feições vermelhas ficavam ainda mais vermelhas quando estava sob pressão ou excitação. Era excessivamente limpo, e, por vezes, tomava banho três vezes por dia. Ficaria surpreendido por saber que duas prostitutas de Bea Winks tinham comentado a sua actuação, e ambas tinham mencionado o odor do seu corpo pálido. Era penetrante, acre, mas não era desagradável. As profissionais também estavam de acordo acerca das suas tendências animalescas. Mas não era nada com que não soubessem lidar...
Mas nas últimas semanas, Charlie Royce tinha pouco tempo para actividades sociais. Além do seu trabalho na Magna - que frequentemente lhe tomava doze a dezasseis horas por dia - tinha estado atarefadamente envolvido em várias outras diligências. Envolvia-se em todas essas diligências com tenacidade, seriedade e uma determinação de ferro. Tal como Eli Hebron, estava consciente do que acontecia à vontade e determinação sob o quente sol californiano. Tinha dado a si mesmo um prazo de cinco anos. Parecia agora que talvez pudesse fazê-Io em menos...
Franklin Pierce Archer dissera-lhe para não usar nomes próprios nos seus relatórios, e as iniciais apenas quando necessário. Royce sentou-se à frente da sua máquina de escrever nova, pôs-lhe papel com uma folha de cópia de carbono e começou a escrever sem hesitação.
Encontrará era anexo as últimas informações que consegui reunir referentes aos planos dos estúdios principais para conversão ao som. Como verá, a Warners ...provavelmente devido à sua condição financeira actual... vai bastante adiantada em relação aos outros. Os pormenores do negócio do Vitaphone vão anexos. O número de que se fala mais frequentemente é oitocentos mil dólares. A Fox está também a avançar rapidamente para o som com o seu sistema alemão. Vai ser usado primeiro nas gravações noticiosas da Fox-Movietone. A maior parte dos outros adoptaram uma atitude de esperar para ver, embora os trabalhos de pesquisa iniciais estejam em curso.
A Warners está a utilizar discos de fonógrafo sincronizados. Juntei pormenores de dois sistemas adicionais que estão agora em desenvolvimento. Um: Um filme separado com a banda sonora, sincronizado com o filme visual. Dois: O sinal sonoro no mesmo filme (ao longo da margem), que exibe a imagem filmada. Os dois sistemas, especialmente o último, parecem bastante prometedores.
87
Tal como pediu, incluo também um orçamento aproximado, caso a Magna se convertesse ao som. O números baseiam-se no sistema de disco Vitaphone da Warners. Devo sublinhar
que a quantia total que se menciona é hipotética. Esta descoberta é tão recente que não existem preços definidos para coisas como microfones, equipamento de gravação, fonógrafos para os cinemas, amplificadores, etc.
Incluo também, segundo as suas instruções, uma lista de despesas feitas durante a pesquisa deste material. O total é maior do que eu calculei mas não é, penso eu, sem justificação. Foi necessário pagar a técnicos e outro pessoal de vários estúdios, bem como pagamentos a repórteres da especialidade, advogados de patentes, etc. Em assuntos deste tipo, é melhor não economizar.
Finalmente, penso que o senhor e os seus sócios já devem estar a par de duas descobertas recentes. Primeiro, a condição física (e mental) de M. A. continua a deteriorar-se, e penso que já não tem condições para exercer o controlo executivo de forma firme e prudente. Segundo, ouvi rumores inquietantes a respeito da vida privada de E. H. Diz-se que arranjou um relacionamento ilícito com uma menor. Se isto for verdade, só pode resultar em publicidade negativa para os Estúdios Magna, quando se tornar do conhecimento público, como inevitavelmente vai acontecer. Tentarei encobrir a verdade desta infeliz questão e informá-lo mais pormenorizadamente na minha próxima carta.
Gostaria de despedir-me, expressando mais uma vez a minha gratidão pela confiança que depositou em
mim. Peço-lhe , a si e aos seus sócios para darem a melhor atenção
possível aos documentos anexos. Como lhe disse durante a sua recente visita, estou absolutamente convencido de que a conversão ao som vai permitir à Magna assumir
o lugar que lhe pertence entre os primeiros da indústria. Não converter, o mais depressa possível, terá um efeito grave na capacidade financeira da companhia.
Considero que as objecções de E. H. aos filmes sonoros não têm qualquer fundamento. Ele fala de "arte" e "sonhos". A nossa única preocupação devia ser a competição
com os palcos, com os espectáculos de variedades e com a rádio. O nosso único propósito deveria ser produzir um produto de entretenimento rendível.
Charlie Royce não assinou esta carta. Endereçou o sobrescrito a Franklin Pierce Archer. E, seguindo as instruções dele, usou
88
a morada de casa, em vez da do Banco de Boston onde trabalhava. Royce pôs a carta de lado para pôr no correio na manhã seguinte. Depois, foi para a casa de banho.
Meteu-se na banheira, a fumar um El Producto. Não pensou nas suas actividades e planos; tentou perceber por que sentira tanto prazer com a passagem pela casa de
Bea Winks, ao ver a actuação dela e da sua actual querida.
Era Hollywood, pensou. Era-lhe estranho, e tinha o fascínio do desconhecido. Era uma existência livre, fácil, aberta, totalmente diferente da sua própria vida, de
tudo o que lhe tinha sido ensinado. Era uma vida de sol e alegria, de amores curtos e intensos, sexo imaginativo, de bebida e drogas. Era uma forma de vida que parecia
negar o passado e ignorar o futuro.
Em comparação, a sua própria vida, cheia de cumplicidades sombrias e desejos fortes, de vez em quando parecia-lhe tão antiquada e ligeiramente ridícula como as pretensões de um delfim. Desejava, por vezes, como em casa de Bea, pertencer ao mundo da flanela branca, das garrafas de prata, ao mundo do jazz alto e da queca rápida. O seu problema, admitiu melancolicamente, era uma incapacidade de sentir prazer. Como é que uma pessoa se divertia?
De banho tomado, levantou-se da banheira e apagou a ponta do cigarro na água. Secou o corpo forte e rijo, vestiu um pijama. Antes de ir para a cama, tirou as roupas para o dia seguinte: roupa interior B. V, D. meias Interwoven com calças Paris. Botas de cano alto Florsheim, cinto Hockok, fato de tweed Society Brand, camisa Van Heusen com colarinho destacável Windsor, gravata Botany, chapéu de abas largas Knapp-Felt.
Olhou para a roupa colocada sobre o sofá. Viu Charlie Royce ali sentado. Mas, é claro, as roupas estavam vazias.
Quando mandou Barney O'Hara buscá-la na Hispano-Suiza, soube que tinha tomado uma decisão fatal. Agora, toda a gente saberia.
Esperou na entrada, a andar nervosamente de um lado para o outro. De vez em quando, abria as cortinas da janela da frente para espreitar. Quando viu o carro curvar
para o caminho empedrado, saiu. Não sabia se deveria esperar no alpendre ou se devia descer até ao carro. Não sabia o que fazer. Por fim, desceu apressadamente até ao carro . Ela estava refastelada no banco de trás como uma princesa. Barney
O'Hara tinha saído e estava a segurar-lhe a porta.
- Chegámos, senhora - disse OHara solenemente, e Gladys riu-se. Hebron estava feliz por eles se darem bem.
Ela saiu do carro, tirando primeiro as pernas, a deslizar, e a saia subiu-lhe acima das meias enroladas. Beijou-lhe a cara. Ela não
89
prestou atenção. Estava a olhar para a casa, com os olhos muito
abertos.
Bem-vinda a Paradiso, Glad! - disse Hebron.
Ela olhou para ele.
Vives aqui? - murmurou.
- Vivo aqui - ele sorriu.
- É formidável - disse ela. - Simplesmente formidável.
-Vai até ao alpendre, Glad. vou ter contigo daqui a um minuto. Ela parou para tocar no pára-lamas da Hispano-Suiza.
- Que sucata! - disse.
Barney OHara riu-se. Ficaram os dois a vê-la subir até à porta, com a saia curta a balançar. O chapéu branco, inclinado para um lado, dava-lhe um ar empertigado.
- Desculpa fazer-te sair a um domingo, Barney-disse Hebron.
- Quando quiser, Sr. Hebron.
- Eu depois compenso-te. Achei que ela ia gostar de andar numa limusina.
- E gostou mesmo - OHara sorriu. - Esteve sempre a tocar na pele dos estofos.
- Que achas dela, Barney?
- Eu pergunto-lhe muito confidencialmente - cantou OHara -, não é um amor?
Eli Hebron sorriu.
- Vemo-nos amanhã de manhã.
Levou-a para dentro. Robert aproximou-se. Hebron apresentou-os. O mordomo curvou-se cerimoniosamente.
- Almoço dentro de duas horas, mais ou menos, Robert.
- Sim, Sr. Hebron. Na sala de jantar?
- Oh, não. Está um dia tão bonito, pode servir no terraço, por favor?
- com certeza, Sr. Hebron,
- Deixa-me mostrar-te a casa - disse-lhe ele. - Vamos começar pelos jardins.
Levou-a até às portas envidraçadas, para o terraço, pátio, garagem, piscina. Mostrou-lhe como Taki estava a tentar criar um jardim japonês com plantas, árvores e pedras artisticamente colocadas na relva elevada. Ela não falou muito, mas ele reparou que ela ia tocando nas coisas: a sentir uma folha de rodendro, a percorrer um banco de mármore com as pontas dos dedos, debruçando-se repentinamente para pôr as mãos na piscina. Inspeccionou um relógio de sol de bronze que tinha a inscrição "O tempo não espera por ninguém". Espreitou para dentro, de um bebedouro de pássaros revestido a azulejos, puxou o nariz de um querubim de cimento, levantou o olhar para ver gaios a esvoaçar por cima deles.
90
- Tens algum cão? - perguntou.
- Não. Tivemos um, mas morreu.
- De quê?
- O veterinário disse que foi da idade. Na verdade, o Bosco era o cão da minha mulher. Eu acho que foi de solidão.
Ela assentiu.
- Sim - disse. - Foi isso mesmo.
Enquanto ela andava por debaixo das árvores, ele viu como o sol a salpicava. As sombras eram violeta. A luz tinha um brilho rosado. Ela passeava pelo relvado. Olhou
para trás e viu a relva a subir lentamente depois de pisada por ela. Pensou se conseguiria registar isso em filme.
Depois, levou-a novamente para a casa. Mostrou-lhe o rés-do-chão: sala, escritório, sala de projecções, sala de jantar, cozinha. Apresentou-a à Sr.a Birkin e ela
levantou a tampa de uma panela para cheirar o vapor.
- Hum - disse.
- Para fazer caril de tomate, menina - disse a Sr.a Birkin.
- Hum-Hum - disse Gladys. A Sr.s Birkin sorriu.
Ela subiu a escadaria à frente dele. Ele admirou as pernas dela envoltas em meias de seda brancas: tornozelos finos que alargavam para a barriga da perna musculada.
A esbelta parte de trás dos joelhos. Ela parou uma vez, sorriu para ele por cima do ombro.
- É uma casa formidável, Eli - disse. - Adoraria viver aqui.
- A sério? - disse ele. Mostrou-lhe os quartos, um quarto vazio, que poderia ter sido
um quarto de crianças, e a casa de banho com as paredes de mármore, banheiras e lavatórios e acessórios dourados.
- Ouro verdadeiro... a sério? - perguntou ela.
-Verdadeiro e a sério - confirmou ele. - Não é maciço - acrescentou rapidamente. - Banho de ouro.
Por fim, levou-a até ao quarto principal. O quarto espelhado.
- Oh - disse ela, docemente, a olhar em volta. - Oh, oh, oh.
- É muito feminino, eu sei - disse ele, tentando rir sem conseguir. - A minha mulher decorou-o. Ou mandou decorá-lo. E eu não quis mudá-lo.
- Claro que não - disse ela. - Por que haverias de o fazer? Ele sentou-se na cama. Acendeu um cigarro com os dedos a
tremer. Observou-a enquanto passeava por ali. Espreitou pelas janelas que davam para a piscina. Inspeccionou o quarto de vestir. Espreitou a casa de banho. Voltou e ficou a olhar para uma fotografia numa moldura de prata de Grace Darling por Eugene Robert Richee, que estava sobre uma mesa cromada. Depois, aproximou-se de uma das
91
paredes espelhadas. Tirou o chapéu, sacudiu o cabelo curto e ficou a olhar para si mesmo.
- Sou horrível! - disse.
Não digas isso - disse ele. - És linda!
Não tão bonita quanto ela era.
Sim - disse ele. - Tão bonita como ela. Mas de uma forma diferente.
Eu vi todos os filmes dela.
- Viste? Ela era muito boa.
- Era mesmo. Alguma vez dirigiste algum filme com ela, Eli?
- Não. Ela trabalhava para a Universal e para a MGM. Decidimos que era melhor assim.
- Davas-lhe conselhos?
- Às vezes - disse. - Só quando ela os pedia.
Ela aproximou-se e sentou-se na cama, ao lado dele. Pôs a mão na bolsa, tirou um maço amassado de Fatimas. Ele acendeu um fósforo para ela.
- Ela era feliz, Eli?
- Acho que sim. Até ao último filme. Era muito mau, e ela não suportou isso. Eu li o guião. Pediu-me opinião e eu disse-lhe para não o fazer. Não era filme para ela. Mas ela teimou e fê-lo. Acho que eu poderia salvá-lo. A montagem era má. Precisava de mais filmagens. Pelo menos de mais duas cenas. Mas o filme não era meu; não podia interferir. Sabia que iria ser um desastre. Estas coisas acontecem. Eu também já tive falhanços. Custam muito. Mas acabamos por os aceitar e partir para outras coisas. Ela não conseguiu continuar.
Ela voltou-se e olhou para ele.
-Amava-la muito, Eli!? - Era mais uma afirmação do que uma pergunta.
- Sim - disse ele. - Muito. Ela tinha alma. Não era apenas beleza, mas também alma. A câmara apanhou isso. Eu queria que ela fizesse comédias leves e histórias de amor sofisticadas. Coisas sérias. Como a Pickford e â Gish. Ela fazia esse tipo de coisas muito bem. Mas queria fazer dramas pesados, e isso acabou com ela. É um negócio mesquinho e brutal.
- Sim - disse a rapariga tristemente -, é mesmo. Cresce-se depressa.
Inclinaram-se para a frente os dois, apagaram os cigarros ao mesmo tempo, no cinzeiro em forma de papoila aberta, na mesa-de-cabeceira.
- Bem! - disse ele, vivamente. - Vamos para baixo e... Cinco minutos depois, a porta do quarto estava trancada e eles estavam de pé, nus, lado a lado, perto de uma das paredes espelhadas.
92
Ela tinha fechado as cortinas; a luz do sol estava menos intensa. Lente difusora, pensou ele indolentemente, e pareceu-lhe ouvir um zumbido no ar.
Ficaram a olhar para as imagens reflectidas, com os olhos fixos no espelho. Eram quase da mesma altura, ambos magros, e em ambos se via osso e músculo. Tendões e
pele firme. Ele mais escuro do que ela. Os seus lábios tocaram-se. A ponta dos dedos dele percorreram-lhe as costas. Ela tremeu; a sua boca abriu-se. Aproximaram-se mais do espelho, a olhar, abraçados.
Ela estendeu a mão. Pegou-lhe com a mão. Olharam, fascinados. Ele estava de pé a tremer, sem ouvir os sons profundos ou os gemidos. A mão macia dela, os seus dedos macios. Olhavam para a imagem, fascinados. Até ele se vir: esguichos brancos contra o ecrã prateado. Ficaram a olhar enquanto escorria lentamente.
Ele pensou se se podia rezar a um Deus em quem não se acreditava pela felicidade de alguém que se amava.
Não a conseguiu tirar da cabina envidraçada do duche. Ele tomou banho em poucos minutos e saiu. Mas ela insistiu em ficar, a gritar de prazer enquanto a água encharcava o seu cabelo curto, e se espalhava pelos ombros, pelo ventre brilhante e pelas coxas.
O vidro fosco estava gravado com garças, negros africanos, folhagem da selva. Por detrás, pouco definida, viu carne branca em movimento, feições imperceptíveis,
a mancha escura do cabelo. Afastou-se um passo. Levantou as mãos no comprimento máximo dos braços, com as pontas dos polegares a tocarem-se e os dedos juntos a apontar
para cima. Neste enquadramento triangular, viu a cena que gostaria de filmar. Mas isso era outro filme.
Quando ela voltou para o quarto, a rir, eleja estava vestido, e já tinha limpo a parede de espelho. Ela veio a correr, nua, a enrolar o cabelo numa toalha. Rodopiou pelo quarto, a rir-se de cada vez que a sua imagem passava de espelho para espelho. Sentiu a tentação de pôr os discos do fonógrafo da sua mulher, para ela continuar a dançar, e depois vesti-la com as roupas interiores com monograma da sua mulher. Não fez nenhuma dessas coisas.
Desceram de mãos dadas, a sorrir sem motivo. Ela tinha colocado o chapéu na cabeça dele. Ele desceu animadamente com o chapéu, inclinado sobre um olho. Correram para o terraço. Robert, com grande solenidade, agitava um shaker de prata para cima e para baixo em golpes curtos e secos.
- Tomei a liberdade, senhor - disse. - Daiquiris. A senhora deseja uma cereja? Para adoçar?
- Acho muito provável que a senhora queira - Hebron riu-se.
- Ê melhor pôr duas cerejas. Ou três.
Almoçaram numa mesa de ferro trabalhado branca com o topo de
93
vidro. Do centro saía um grande chapéu de sol que os protegia do sol. Tinha a forma de uma margarida de lona gigante. As almofadas das cadeiras de ferro brancas
também estavam decoradas com margaridas, tal como os individuais de tecido.
Robert serviu o caril de tomate com camarão fresco cozido. A salada fria, numa taça de vidro, era verde: alface, endívias, agriões, chicória. E o shaker de daiquiris parecia não ter fundo.
Sentaram-se lado a lado na mesa quadrada. Comeram devagar, quase preguiçosamente. Paravam frequentemente para observar os reflexos brilhantes que apareciam na piscina ou para ver o trabalho de um picapau que atacava furiosamente um tronco de palmeira. Depois, ouviram o barulho de um avião. Pararam de comer para se levantarem rapidamente, saíram de baixo do guarda-sol, olharam para cima. Um biplano, vermelho como sangue, aproximava-se de Beverly Hills, bastante baixo, com as asas a abanar. Ficaram encantados quando um piloto de óculos postos se debruçou do cockpit e acenou para eles. Acenaram entusiasticamente em resposta.
- Já alguma vez estiveste lá em cima? - perguntou-lhe Hebron antes de se voltarem a sentar.
- Não, e como gostava de o fazer!
- Vamos fazê-lo - disse ele. - Vamos lá acima juntos. Gostavas?
- Oh, sim - gritou ela. - Para cima, para cima, para cima.
- Isso não me preocupa - gracejou ele. - O problema é como vimos para baixo, para baixo, para baixo!
Ela debruçou-se para a frente com um pequeno camarão entre os dedos. Levou-o à boca dele. Ele recebeu-o na boca, obedientemente, e beijou as pontas dos dedos dela. Depois de ele fazer isto, ela levou a ponta dos dedos à boca e beijou o sítio que ele beijara, a olhar para
ele com uma expressão que ele não entendia completamente.
- Por que é que estás a olhar para mim assim? - perguntou.
- Assim, como?
- Triste, confusa e determinada... tudo ao mesmo tempo.
- Oh, isso! É que tenho miopia.
- Não tens nada! - Ele parou. - Tens?
-Não - disse ela. - Estava apenas a pensar no quarto. No espelho. E na felicidade que sinto. Estás feliz, Eli?
- Oh, sim. Feliz como há muito tempo não me sentia. Tenho estado todo o dia a rir. Deves achar que sou um idiota.
- Um idiota muito agradável - disse ela. Tirou um dos sapatos, acariciou os tornozelos dele com dedos envoltos na meia.
- Sabes muitos truques - ele sorriu.
- Sei outro - disse ela. - Dá-me a tua mão.
Ele estendeu-lhe a mão. Ela pegou nela suavemente, voltou a
94
palma para cima. Debruçou-se sobre ela, tocou no centro da palma com a ponta da língua. Depois lambeu avidamente. Os seus olhos voltaram-se para cima, a observá-lo.
- Isto excita-te? - sussurrou ela.
- A ti excita-te - disse ele. - Eu sinto isso.
- Tudo em ti me excita - disse ela. - Podemos voltar a subir para o quarto?
- Não - disse ele, assustado.
- Está bem - disse ela, no mesmo tom. - Que é a sobremesa? Robert levou os pratos vazios. Trouxe-lhes pedaços de pêssego
fresco mergulhados em porto.
- Oh, Robert - disse ela -, vais embriagar-me.
- Espero que não, menina - disse ele, sério.
Depois de ele sair, ela encheu colheradas de pêssego e porto e disse, com os lábios molhados:
- Se eu ficar tocada, terás de me levar para a cama, não é? - Depois, quando viu a expressão dele, disse: - Estava a brincar, Eli. Não vou ficar bêbeda. Não vou mesmo. Só me sinto bem.
- Eu também me sinto bem. Estar contigo faz-me sentir bem. Ele viu aquele olhar novamente, o olhar que não conseguia penetrar, e desistiu de tentar.
Robert levantou a mesa, deixando apenas o shaker e os copos. Ficaram sentados com indolência, a beberricar lentamente as bebidas. Passado algum tempo, e simultaneamente, as suas mãos subiram, juntas. Ficaram sentados, satisfeitos, de mãos dadas.
- Conta-me uma história, Eli - murmurou ela.
- Está bem. Era uma vez uma rapariguinha linda de Nova Jérsia que veio para Hollywood porque queria entrar no cinema e ficar rica. E ela conheceu este homem que a meteu no cinema, e ela tornou-se rica e famosa. Todo o mundo a adorava, e ela andava muito atarefada, e homens bonitos não paravam de tentar encontrar-se com ela e de tentar sair com ela e fazer amor com ela.
- E que é que lhe aconteceu? - perguntou ela, ofegante.
-Já te disse. Ficou rica e famosa. E esqueceu-se completamente do homem que a fez entrar no cinema
- E isso que achas que vai acontecer, Eli?
- Não sei. - Ele encolheu os ombros. - É o que acontece normalmente. Mas não é importante. O que é importante é que consigas o que queres. É só isso que conta.
Ela gemeu, libertou a mão com um puxão. Levantou-se de repente, atravessou o terraço a coxear e desapareceu. Ele pegou no sapato dela e seguiu-a. Encontrou-a por
fim, deitada debaixo de uma palmeira alta e esguia. Estava enrolada numa bola, a chorar. Ele sentou-se ao lado dela, e acariciou-lhe as costas, amorosamente.
95
Glad - disse -, que foi?
Tu - soluçou ela. - Tu.
Corta o final - disse Timmy Ryan.
Ahh, merda! - disse Bernie Kaplan. - Agora que estava a
ficar interessante.
Riram-se os dois e estenderam as mãos para os copos que estavam em cima da secretária. Encontravam-se no escritório miserável de Kaplan. O investigador privado tinha desencantado uma garrafa de Golden Wedding.
Ryan bebeu com agrado. Segurou o copo ao alto na direcção da luz que vinha da janela suja.
- Que agora é raro, lá isso é - disse. - Quem é que tem andado a vender material deste?
- Um dos nossos rapazes de azul - disse Kaplan. - Provavelmente, um antigo companheiro teu.
- Nunca tive um companheiro nos Feds. - disse Ryan, indignado. - Que belo negócio que eles têm. Fazem uma rusga numa destilaria ou num armazém. Confiscam cem caixas. Referem apenas dez no relatório e vendem as noventa. Estou certo?
- É uma coisa desse tipo - admitiu Kaplan. - Tenho uma garrafa para ti... só para te mostrar que tenho o coração no sítio certo.
- Ah, Bernie, eu sei onde está o teu coração - disse Ryan. Exactamente naquela carteira que está encostada ao teu eu judeu. Quanto é que devo por aquela vigilância?
- Duas das grandes.
- E isso inclui a minha garrafa - Ryan inclinou-se para a frente. - Desabotoou o casaco do uniforme, tirou um sobrescrito e um monte de papéis do bolso interior. Tirou duzentos do sobrescrito, empurrou as notas pela secretária, até Kaplan.
- Queres um recibo? - perguntou o IP.
- Para ter a certeza.
- De trezentos?
- Ah, és um tipo compreensivo, Bernie.
- E tu és um bandido, Timmy.
- Dos pequenos, Bernie, minúsculo mesmo. Nunca fui ganancioso. É um facto conhecido.
Kaplan passou o recibo de trezentos. Ryan guardou-o cuidadosamente. Depois abriu o maço de papéis e espalhou-os na secretária.
- Isto agora é assunto da Magna - disse. - Três autorizações de emprego.
- Gosto disso - disse Kaplan. - Principalmente papelada, e Pagam bem.
96
- É verdade. Dá uma olhadela...
Kaplan leu as biografias curtas. Tinham sido preparadas no departamento de imprensa de Henry Cushing, na Magna. Eram as estatísticas essenciais dos três novos actores que estavam para ser contratados pela Magna. As informações tinham sido facultadas pelos actores ou pelos agentes.
A seguir aos escândalos de Wallace Reid, Fatty Arbuckle e William Desmond Taylor - para não falar no divórcio da Queridinha da América e no seu rápido novo casamento com Douglas Fairbanks -, a maior parte do país ficou convencida de que Hollywood poderia dar aulas a Sodoma e provocar a inveja de Gomorra. Executivos da indústria do cinema, ansiosos por limpar a reputação de Hollywood e por encorajar a afluência das famílias ao cinema, determinaram-se a provar que a sua cidade não era pior do que Hyrum, Utá ou Harmony, Maine.
Will Hays foi nomeado zelador da virtude de Hollywood (presidente da Associação dos produtores de Cinema e Distribuidores) com um salário anual de cem mil dólares. As instruções que tinha eram para erradicar a imoralidade da indústria de filmes. O Sr. Hays tinha adquirido os seus conhecimentos de imoralidade, sem dúvida, ao servir como director-geral de correspondência no Gabinete do presidente Warren Gamaliel Harding, um tipo formidável.
Além disso, o maiores estúdios inseriram cláusulas morais nos seus contratos de emprego. Reconhecendo que o dinheiro fácil na capital do cinema atraía prostitutas, vigaristas, foliões bêbedos, drogados, proxenetas e mulheres sem moral - bem como, é claro, jovens inocentes e ambiciosas -, os executivos que contratavam novos actores insistiam que eles concordassem com contratos que estipulavam, de boa-fé, que o contratante se absteria de pecados públicos e vícios privados. Pelo menos, durante a vigência do contrato.
Como salvaguarda adicional contra o escândalo, a maior parte dos estúdios maiores, incluindo a Magna, contratavam agências de detectives privados para fazer investigações dos passados daqueles que queriam contratar. Os estúdios esperavam, assim, evitar contratar sodomitas convictos ou prostitutas.
Bernie Kaplan fazia este trabalho de investigação prévia para a Magna Filmes, Inc. Só era preciso, como Kaplan dissera a Timmy Ryan, algumas cartas. Era trabalho limpo e ganhava mais do que a vigiar uma esposa errante ou a tirar fotografias a um marido adúltero num quarto de hotel, quando ele estava a tirar os suspensórios e a dizer à querida que a mulher não o compreendia.
- Parecem-me certinhos - disse Kaplan, terminando a leitura das biografias. - Devo conseguir verificá-los em, digamos, mais ou menos, duas semanas.
97
Óptimo - disse Ryan. - Agora há mais uma.
Pensei que tinhas dito que eram três?!?
- Esta é especial. Esta não exige qualquer trabalho. Basta avaliares a informação que aí está, Bernie, e mandar a conta. Não vás meter o nariz.
Os dois homens ficaram a olhar um para o outro, Kaplan a tremer, Ryan a sorrir benevolamente. Cortou cuidadosamente a ponta de um charuto e acendeu-o, e expeliu fumo azul para o tecto de tinta descascada.
- Jesus Cristo, Timmy - disse Bernie Kaplan em voz rouca. Sabes o que me estás a pedir?
- Sei, rapaz.
- É a minha cabeça, se isto der para o torto.
- Não vai dar para o torto, Bernie. Acredita na minha palavra. Kaplan pegou na quarta biografia e leu-a rapidamente.
- Gladys Potts? - disse. - Que é que ela tem de tão especial?
- Limita-te a confirmar os factos como estão, Bernie. O IP ficou a olhar para o polícia por um longo momento.
- É esta a miúda que eu vi com o Hebron? - perguntou, por fim.
- Não me faças perguntas, e eu não te digo mentiras - disse Ryan, fumando placidamente. - Posso ir até aos duzentos para isto, Bernie.
- Cinco - disse Kaplan. - Pode estar em jogo o meu pescoço, Timmy. Cinco.
- Três.
- Quatro.
- Três e cinquenta e está fechado - disse Ryan. - De acordo?
- De acordo - disse Kaplan, amuado.
- Aperta aqui para selar esta, Bernie, meu rapaz - disse Ryan, Cím entusiasmo, estendendo a sua enorme pata. - Sei que és um homem de honra. Não ias enganar o velho Timmy Ryan.
Kaplan apertou a mão, ressentido.
- O que seria de mim se o fizesse? - perguntou.
- Ah, bem - disse Ryan. - Nem vale a pena...
Timothy Francis Edward Ryan fora o chefe da Brigada de Costumes do Departamento da Polícia de Los Angeles. Tinha subido a esta desejável e extremamente rendível posição por, como ele dizia, "ser leal e retirar a lealdade". Os seus superiores acreditavam que ele passava grande parte das suas apreensões. As prostitutas, jogadores, contrabandistas, traficantes de droga, chulos e ladrões a quem extorquia dinheiro achavam todos que tinham feito um negócio justo. Como tinha declarado uma vez uma prostituta de salão: "Timmy Ryan é um homem em quem se pode confiar; mantém-se subornado."
98
Mas um procurador do Ministério Público com ambições políticas iniciara uma investigação, e os poderosos tinham decidido que Timmy Ryan tinha de cair. Tinham chegado a acordo com o procurador de que as investigações terminariam com Timmy. Não ficara ressentido; sabia como estas coisas funcionavam. Portanto, foi autorizado a demitir-se em desgraça, com uma oferta discreta da quantia de cinco mil dólares daqueles a quem ele tinha "dado lealdade" e uma colecta final de quase três mil dólares daqueles a quem ele concedia "lealdade mínima". Seis meses depois de o seu nome desaparecer das primeiras páginas, foi nomeado chefe de segurança do estúdio da Magna Filmes, Inc. Na mesma altura, um registo pormenorizado de como Margaret Gay tinha sido presa num hotel de Wilshire Boulevard com cinco marinheiros exaustos desapareceu dos arquivos da Polícia, na Primeira Divisão.
- Ahh, Timmy - protestou Kaplan -, sabes que não te iria trair.
- Eu sei, eu sei - confirmou Ryan. - És bom rapaz, Bernie.
- Mas tens a certeza de que podes confiar na pessoa para quem estás a trabalhar?
- Não tenhas receio - disse o polícia, expelindo baforadas com grande satisfação. - Estou no banco do condutor, meu filho. Eu sei onde os corpos estão enterrados,
percebes? com efeito - acrescentou Timmy Ryan com uma gargalhada que paralisou a alma de Bernie Kaplan -, talvez até tenha sido eu a enterrar alguns.
O Dr. Irving Blick não era psicanalista. Na verdade, nesta altura não havia psicanalistas em Los Angeles, e havia apenas sete em Nova Iorque. Mas ninguém tinha dúvidas de que o Dr. Blick era a autoridade máxima de Hollywood nas teorias do Dr. Sigmund Freud de Viena. Tinha acrescentado recentemente "aconselhamento psíquico" à sua experiência clínica. E frequentemente fazia palestras em almoços de senhoras. Incitava-as, depois de servida a sobremesa, a "copular livremente, sem vergonha ou culpa". Era muito requisitado.
Era um homem imponente que usava fatos escuros de quatro botões e frentes sobrepostas. Pince-nez com armação de ouro assente no nariz carnudo. Os óculos estavam ligados à botoeira com uma fita preta. Eli Hebron achava que Blick se parecia com o comediante Oliver Hardy, embora o médico não tivesse bigode. Mas tinha os maneirismos arrebatados e os gestos artificiais de Hardy.
Hebron acabou de se vestir e depois, como lhe havia sido dito, voltou ao gabinete. O Dr. Blick estava sentado atrás da secretária, a tomar notas na ficha de Hebron. Apontou uma cadeira ao supervisor
99
Depois, fechou a ficha com um movimento brusco e recostou-se. Tirou opince-nez e começou a enrolar a fita preta devagar em volta do dedo indicador.
- Bem - disse -, a nossa tensão arterial está ligeiramente alta, mas não é nada de preocupante. Os nossos tremores persistem, especialmente na mão direita.
Está a melhorar - disse Hebron.
Está? Óptimo. Os resultados da nossa análise à urina devem
chegar daqui a um ou dois dias. A nossa pulsação e a respiração não mostram alterações significativas. Temos tomado a nossa medicação?
- Sim. Na verdade, preciso de mais uma receita, doutor.
- Claro. Achamos que ajudam, não é verdade?
-Às vezes. A maior parte das vezes. Não são viciantes, pois não, doutor?
- Não necessariamente.
- Que quer isso dizer?
- Não são fisicamente viciantes. Podem, no entanto, tornar-se psicologicamente viciantes. Preferiríamos que fossem dispensados. Mas dadas a circunstâncias... Há
alguma coisa referente ao nosso estado emocional que devamos saber?
- Bem...
- Por exemplo, tem estado sexualmente activo?
- Bem, ah, não, parece-me, sexo normal, não.
- Sr. Hebron! - O Dr. Blick gritou em voz dura. - A palavra normal não tem lugar no léxico médico. Especialmente no campo dos fenómenos psíquicos. E, principalmente, em comportamentos sexuais. Que é que fizemos?
Hebron disse-lhe.
- Hum - disse Blick, desenrolando devagar a fita preta do indicador. - Interessante. - Pôs opince-nez, voltou a abrir a ficha de Hebron, escreveu atarefadamente. - Os dois incidentes aconteceram com o mesmo parceiro?
- Sim.
- Uma mulher?
- Claro - disse Hebron, irritado.
- Sr. Hebron - acalmou Blick -, estamos a tentar encobrir a causa da nossa infelicidade. Para fazermos isto, temos de ser completamente abertos e francos e, acima de tudo, honestos. Percebemos a necessidade disso, não percebemos?
- Acho que sim. Sim.
- Óptimo. Uma jovem?
- Sim.
- Sentimos ligação emocional em relação a esta jovem?
100
Hebron ficou calado durante um momento, depois disse em voz fraca.
- Gostaria.
- Gostaria? - repetiu o médico. - Isso significa que queremos mas não podemos. Por que não?
- Ela é muito jovem.
- Quanto?
- Dezoito.
- E nós temos... que idade? - Blick deu uma olhadela à ficha.
- Quarenta? Não é motivo suficientemente forte para não sentir afecto por essa jovem.
- Eu sinto. Eu sinto afecto.
- Mas não podemos amá-la, não é isso? Não podemos permitir-nos amá-la?
- É mais ou menos isso.
O Dr. Blick colocou opince-nez firmemente no lugar. Depois, encostou-se para trás, com os dedos gordos afastados colocados no seu peito volumoso.
- Alguma coisa bloqueia a nossa capacidade para amar esta jovem. Que, a propósito, deve estar bastante enamorada. Tentou dar-nos prazer de todas as maneiras que pode, sentindo instintivamente a nossa incapacidade de atingir a satisfação da forma habitual. Estamos certos?
- Sim. Eu diria que sim.
- Mas, apesar da ternura dela, das atenções carinhosas para com o nosso prazer, ainda nos sentimos incapazes de passar da afeição para o amor?
- Sim.
- Que é que poderá estar a bloquear o nosso amor?
- Não sei. Já pensei muito nisso. Não consigo perceber.
- Temos medo?
- De amar? Oh, não. Eu amei muito a minha mulher.
- Ah! - disse o Dr. Blick, com os olhos a brilhar por detrás dos óculos grossos -A nossa mulher! A nossa falecida mulher! Amámo-la muito, mais do que já amáramos alguém ou amámos depois da sua morte. Está correcto?
- Sim.
- E, na nossa cabeça, esse grande amor não pode voltar a ser repetido? Nunca?
Hebron ficou em silêncio.
- Culpa! - disse o Dr. Irving Blick, severamente, batendo com uma mão no tampo da secretária. - A culpa é o que nos impede de voltar a amar. Porque, se amássemos, seríamos infiéis à nossa mulher.
101
Eu...
À nossa falecida mulher! - disse Blick, com voz de trovão. -
Isto não é verdade? Jurámos amor eterno. Convencemo-nos de que amar novamente seria trair uma mulher que já está morta há mais de um ano. Não é verdade, Sr. Hebron?
Sim - disse ele, em voz baixa. - Acho que tem razão.
Sabemos que tenho razão! - disse Blick, peremptória e alegremente. - Agora vamos descobrir como é que podemos tirar da nossa cabeça esta noção parva, romântica e antiquada. Logo que a culpa esteja dominada, a nossa psique está livre para amar novamente. A culpa sai pela janela enquanto o amor entra pela porta. Desculpe-nos um momento, enquanto tomamos nota disso. A culpa sai pela...
Barney OHara estava à espera na Hispano-Suiza, à porta do consultório de Beverly Hills do Dr. Blick. Saiu do carro para segurar a porta.
- O checkup correu bem, Sr. Hebron?
- Bem, obrigado. Está tudo bem. Sinto-me muito bem.
- Ainda bem, Sr. Hebron. Já reparei que tem andado mais animado ultimamente.
- Reparaste? - disse o supervisor, satisfeito. - Bem, sinto-me mais animado. Agora, vamos para o estúdio, Barney.
Na noite anterior, a Magna Pictures tinha feito uma ante-estreia privada de um novo filme num cinema da companhia em Pasadena. O filme chamava-se Ciúmes. Era uma história de amor bombástica, dirigida por Eli Hebron. Tinha esperanças moderadas no guião, elenco e equipa de produção. O filme revelou ser a mediocridade que esperava. Mas a procura de novos filmes continuava insaciável; Hebron desejou que Ciúmes desse para cobrir os custos e talvez um pequeno lucro.
A história de Ciúmes era de mau gosto. Passava-se na cidade de Nova Iorque, na viragem do século. Um jovem casal, recém-casado, apaixonado, vive num apartamento. Trabalham os dois, o marido num depósito de caminho-de-ferro, a mulher a uma máquina de costura, no sótão de uma loja exploradora.
Um dia, o marido fere-se no trabalho. Não é sério, mas requer uma prolongada convalescença em casa. Claro que deixa de receber salário. Para conseguir comprar comida, pagar a renda e os tratamentos médicos do seu marido, a jovem trabalha horas extraordinárias, não voltando, por vezes, para casa, antes da meia-noite. Está exausta mas feliz por conseguir manter o seu pequeno lar.
Ao lado, mora uma mulher morena e bonita cujo marido morreu de alcoolismo, deixando-lhe uma pequena pensão. Sente-se atraída pelo jovem marido ferido. Uma vez que são vizinhos e estão juntos
102
todo o dia enquanto a mulher trabalha, a vizinha, a mulher fatal, começa a namoriscar com o homem.
A vizinha envenena o marido, dizendo-lhe que a mulher dele não está verdadeiramente a trabalhar até mais tarde e que tem um caso com o seu jovem e bonito patrão.
Há uma cena em que o patrão tenta realmente seduzir a jovem esposa. Mas ela repele-o, dizendo-lhe que o amor que sente pelo marido a vai manter pura e satisfeita para sempre.
Por fim, louco de ciúmes, o marido pega no revólver e, de muleta, vai de noite a coxear até à fábrica da mulher, pensando surpreendê-la na sua infâmia. Ataca o jovem e bonito patrão e força a entrada num quarto interior, pensando que vai encontrar a mulher numa posição comprometedora. Em vez disso, encontra-a num grande sótão, no meio de cinquenta mulheres atarefadas nas suas máquinas de costura.
Tinham sido filmados dois finais para este trabalho inicial. Num, o marido cai de joelhos a soluçar à frente da mulher e pede perdão pelos seus ciúmes. Ela reprova-o suavemente pela falta de confiança nela, perdoa-o, e acaricia-lhe carinhosamente o cabelo. Fim.
O segundo final, usado na versão do filme exibido na ante-estreia, é mais duro. A mulher trabalhadora fica indignada com as suspeitas vis do marido. Diz-lhe (num discurso retumbante que exige três legendas) que os seus ciúmes desprezíveis destruíram o amor dela e desfizeram o casamento deles. Sai de casa, caminhando para a saída com a cabeça bem levantada. Na última cena, o abatido marido está a ser confortado pela fatal vizinha. Para minorar o seu desgosto, ela oferece-lhe uma garrafa de uísque. Ele bebe muito. Fim.
O responsáveis ligados à produção de Ciúmes estavam à espera de Eli Hebron quando ele chegou ao estúdio, depois da visita ao Dr. Irving Blick. No escritório adjacente estavam o realizador, três actores principais e o operador de câmara. Henry Cushing estava também presente, com uma compilação dos cartões distribuídos pelo público depois da ante-estreia, a pedir a opinião sincera dos presentes acerca do novo filme que tinham acabado de ver. Este método tosco e frequentemente pouco fiável de sondar a opinião da audiência era utilizado antes de inúmeras cópias de um negativo serem feitas para distribuição nacional.
Hebron viu pelas expressões deles que a ante-estreia privada não tinha corrido bem. Compreendeu o abatimento deles. O sucesso ou falhanço de Ciúmes era da responsabilidade do realizador. Mas, em última análise, as carreiras de todos os envolvidos na sua produção seriam afectadas.
- Ora bem - disse Hebron -, vamos lá ouvir as más notícias.
103
Conduziu-os ao gabinete interior e mandou-os sentar a todos. Henry Cushing começou....
Um total de duzentos e oitenta e oito cartões de ante-estreia tinham sido preenchidos e recolhidos. Tinham as observações do costume: "Demasiado longo." "Demasiado curto." "Demasiado lamechas." "Pouco sexo!" "O marido é péssimo." "Demasiado escuro. Devia ser mais brilhante?" E assim por diante.
Mas o mais importante é que cento e quarenta e nove dos que tinham preenchido os cartões não tinham gostado do final. Alguns tinham escrito: "A mulher devia ter
aceite o marido." "É cristão perdoar e esquecer." "Final pouco satisfatório. A mulher devia entender, beijá-lo e fazer as pazes!"
- Bem, de qualquer forma, filmámos esse final - disse o realizador, nervosamente. - Acho que devemos mudar para esse... certo, Sr. Hebron?
- Acha que devemos ir pelo final feliz?
- Bem... claro. É o que toda a gente quer.
- Hank?
- Acho que sim - disse Crushing, limpando a cara suada. Mais de metade odeia o final que temos.
Hebron perguntou aos outros. Todos achavam que o final deveria ser alterado para que o filme terminasse numa atmosfera feliz, com o casal novamente junto.
O supervisor meteu a mão no bolso das calças. Foi até à janela, ficou de pé, de costas voltadas para os outros. Olhou para baixo, para o pátio. Viu Gladys Divine sair da Maquilhagem Guarda-roupa. Tinha uma cabeleira loura levantada numa banana e as roupas de uma professora primária do Oeste de há cinquenta anos. Parou para falar com Bea Winks. Enquanto conversavam, Bea ajustava cuidadosamente a cabeleira, alisava a saia comprida, armava as mangas enfunadas... Depois separaram-se. Hebron viu Gladys dirigir-se ao estúdio interior dois. Andava de forma ondulante, de cabeça erguida, costas direitas, meias de nylon compridas que faziam a saia colar-se-lhe às pernas. Os homens voltavam-se para a ver andar. Hebron sorriu.
- Não - disse, em voz alta. - Vamos ficar com o final que temos agora. O final feliz seria um cliché tão grande que eu teria vergonha de ter o nome da Magna Filmes no filme. As pessoas esqueceriam o filme antes de saírem da sala. Não vão esquecer o final que estamos a usar. Vão falar dele, discutir se a mulher fez bem ou mal deixando o marido.
- Sr. Hebron... - disse alguém, hesitante.
- Mais importante - continuou ele -, há uma nova classe de mulheres neste país. Mulheres cujo futuro e felicidade não dependem
104
dos caprichos de um homem, da subserviência ao marido ou amante. Mulheres independentes, com a coragem de seguir os seus caminhos. com consciência da sua
própria dignidade. Suficientemente corajosas para tentarem realizar os seus sonhos. Novas mulheres. Cada vez mais. Elas vão gostar deste filme e entender o final que temos. Acho que vai dar que falar e render dinheiro. Não quero ouvir argumentos. É tudo.
Eles saíram em fila, silenciosamente. Ele sentiu a raiva e a frustração deles. Ficou a olhar para as portas fechadas do estúdio interior dois.
Passado algum tempo, tomou um dos comprimidos cor de laranja. Empurrou-o com um gole de gim quente. Passeou-se pelo escritório, de cabeça baixa. Por fim, saiu...
- Volto dentro de meia hora - disse a Mildred Eljer. Pegou no LaSalle. Parou à frente da loja de recordações mexicana em La Brea.
Ultima vez, prometeu a si mesmo. Madame Ortiz apareceu pela cortina de contas.
- Seenhorr! - disse.
- Na última vez que estive aqui - disse -, disse-me que iria conhecer uma jovem. Disse que ela me traria felicidade, mas para ter cuidado com ela. Quero saber mais acerca dela.
Sentaram-se na mesa desengonçada. Ela deitou as cartas engorduradas.
- Não - disse Madame Ortiz, observando. - Não cuidado. Só flicidade.
- A rapariga vai trazer-me felicidade?
- Muita flicidade. Muito amor. O que quer. Tudo. Ele deixou-se ficar um momento em silêncio.
- Obrigado - disse, por fim, pagando-lhe e saindo.
De volta ao estúdio, deixou o carro em frente ao edifício da administração para Barney OHara o guardar na garagem. Foi directamente para o estúdio interior dois e entrou sorrateiramente. Estavam a preparar-se para uma cena numa escola só com uma sala. O realizador estava a explicar a cena a Gladys Divine.
- O vilão está bêbado... percebes? Entra a cambalear. Dirige-se a ti, tenta beijar-te. Os miúdos estão assustados. Mas tu enfrentas o rufião. Ele empurra-te contra a parede. Tu pegas numa vassoura e começas a bater-lhe. Por fim, põe-lo porta fora. Os miúdos aplaudem e juntam-se à tua volta. Abraçam-te. Percebeste? Vamos fazer um ensaio enquanto eles se preparam. Olha para as marcas de giz, para não saíres do enquadramento.
Charlie Royce estava de pé, perto do grande lençol branco. Cortava o excesso de luz do meio-dia que entrava pelas enormes janelas. Hebron foi ter com ele, com ar casual.
105
Como é que ela vai, Charlie? - perguntou, em voz baixa.
Não sei como é que faz, Eli, mas ela sabe representar como
ninguém.
Observaram Glad e o ensaio da cena. O realizador mostrou como queria que se posicionassem, movessem, voltassem. A rapariga ouvia atentamente, mordendo o lábio inferior.
Ela nunca faz o mesmo erro duas vezes - disse Royce.
- Como é que está a comida do hotel? - perguntou Hebron.
- O quê? - disse Royce, espantado. - Porquê?
- Pensei convidá-la para jantar. Num sítio agradável...
- Oh - disse Royce, sem expressão. - A comida é boa. Experimente o rosbife.
Depois, como se tivesse percebido o que Hebron dissera, voltou-se para olhar para ele, com um sorriso leve.
- Está a mexer consigo? - disse.
- Está - disse Eli Hebron.
106
107
Vestia um fato Norfolk de linho branco. Camisa de seda azul-pálido com laço branco. O seu tom acastanhado dava a impressão de um bronzeado que se mantinha inalterável o ano inteiro. Ainda usava a aliança de ouro de casamento? Tina Rambaugh pensou que nunca o vira tão atraente. E... elegante. Teve consciência do seu corpo rechonchudo. Unhas roídas até ao sabugo. Coxas pesadas.
Empoleirou-se na beira da secretária de Jenkins, a beberricar o gim do escritor. Um pé balançava preguiçosamente. O sapato sueco branco estava impecável.
- Aquele final - disse Eli Hebron. - A cena final em que caminham em direcção ao pôr do Sol juntos. Vamos filmar isso normalmente. Sem a lente difusora.
- Mas vamos perder o impacte - objectou Tina. - O senhor mesmo disse que era um final bonito e irónico.
- O filme já vai ser suficientemente irónico sem isso.
-Annenbergnão gostou - adivinhou Jenkins. -Não foi, chefe?
- Foi - disse Hebron, sem sorrir. - E eu não discuti, porque acho que ele está certo. Muitos dos nossos clientes fizeram exactamente a mesma concessão na vida que lhes estamos a mostrar. Devemos dizer-lhes que são loucos?
- Tente outra vez - disse Jenkins. - Não estou a ver a ideia.
- O herói deixou as fantasias de lado - explicou pacientemente Hebron. - Como uma criança põe de lado os brinquedos quando se torna homem. Aceita uma dose menor de felicidade verdadeira em vez dos sonhos extasiados que só lhe traziam dor e frustração.
- O final feliz - suspirou Tina. - Novamente.
- Sim - concordou Hebron. - Um final feliz. Só porque encerra a possibilidade de felicidade. Sem garantia. Os sonhos estavam condenados. Mostramos isso.
- O senhor recusou o final feliz de Ciúmes - disse Jenkins.
- Oh... oh - disse Hebron. - As notícias correm depressa.
- É um mundo pequeno, chefe.
- De facto, o final com que vamos ficar é um final feliz e muitas mulheres vão vê-lo dessa maneira. A mulher de Ciúmes deixa o marido, certo? Porque a desconfiança dele matou o amor dela. Sabe o
108
que vai enfrentar como mulher solteira. Solidão. Talvez desespero. Mas ela tem coragem, tem força para enfrentar o desconhecido, percebendo que é a sua única hipótese de felicidade. Exactamente o mesmo motivo por que o herói de O Amante de Sonho decide assentar com a sua mulher simples.
Jenkins tirou a sua garrafa de gim de debaixo da secretária. Bebeu um longo trago.
- Continuo a dizer que o Annenberg o fez mudar de ideias disse ele. - Chefe - acrescentou.
O supervisor ficou a olhar para ele. Inspeccionou o cabelo cor de areia, a cara esburacada, o olhos azul-água.
- Tu tens talento, Ed - disse friamente. - Não tanto como pensas, mas tens algum. E por isso que te mantenho por aqui. Mas também tens uma boca grande. Deixa-me dizer-te uma coisa acerca do Sr. Annenberg. Ele não tem a tua educação formal e os teus estudos. Mas tem uma coisa que tu não tens, e tu também não, Tina, e eu também não. E uma percepção ou instinto quase infalível para o que o povo americano quer nos seus filmes. Porque o gosto dele é igual ao deles. Quando vocês e eu tomamos uma decisão, normalmente, temos de rejeitar o nosso próprio gosto e inclinação e temos de nos perguntar: "Será que o público vai gostar disto?" O Sr. Annanberg não tem de fazer a transição intelectual. Do que ele gosta, eles gostam. E o que eles rejeitam, ele rejeita. Instantaneamente, automaticamente, instintivamente. É elementar. Sem se atormentar com isso, sem intelectualizar, sem tentar perceber razões e motivos. Portanto, não te sintas tão estupidamente superior ao Sr. Annanberg. Ele está muito à tua frente.
- Eu não... - começou Jenkins.
- Começa a trabalhar no enredo - disse Hebron, secamente. Dou-vos uma semana para um primeiro esboço.
- É tempo suficiente, Sr. Hebron - disse apressadamente Tina Rambaugh.
- Óptimo. - Ele assentiu. Pousou o copo vazio. - Jenkins sorriu -, bebes de mais.
A porta exterior bateu atrás dele. A rapariga olhou para Jenkins.
- Satisfeito? - perguntou.
- O filho da mãe! - disse ele, amargamente. Encheu o copo e acrescentou-lhe cubos de gelo. - Tenho-lhe um ódio de morte!
- Não, não tens nada. Gostas dele e admira-lo, e gostavas de ter metade do talento que ele tem.
- É tão estupidamente limpo! - explodiu Jenkins. - Faz-me sentir um vagabundo. Jesus, será que ele nunca transpira?
- Ed, ele tinha razão acerca do final feliz.
109
- Ah, tinha, gorducha? Tens a certeza? Desistes dos teus sonhos e tens hipótese de conseguir a medalha de bronze.
É isso?
- É melhor do que não conseguir nenhuma - disse ela.
- Ah, para o diabo com isso! - resmungou ele. - Ele trata cada filme que faz como se fosse tornar-se outro Intolerância.
- Talvez seja por isso que os filmes dele dão dinheiro.
- Bondade tua - disse ele. - Tens algum fraquinho por ele?
- Não - disse ela. - Esse é um sonho de que já desisti. Mas é um homem bonito. Tão triste e perseguido.
- Tretas - disse Jenkins. - Já arranjou parceira. Gladys Divine.
- Onde é que ouviste isso?
- Li. Na coluna da Louella, ontem. E. H e G. D. foram vistos de olhos fixos um no outro, a sorrir perante um linguado frito num sítio.
- Oh - disse ela, em voz fraca. - Não sabia.
- O sonho custa a morrer, hem? - zombou ele. - Agora já não podes consolar o triste e perseguido homem. Anima-te, miúda; sei exactamente do que precisas para te esqueceres do desgosto.
- De quê?
- Da investida do vagabundo.
Riram-se os dois. Ela deu a volta por detrás dele e acariciou-lhe o cabelo hirsuto. Inclinou-se repentinamente para beijar os lábios dele. A mão livre dele desceu até à perna envolta na meia de seda, e foi subindo. Puxou a liga dela e soltou-a com um estalo.
- Au! - disse ela.
- Vamos trabalhar - disse ele. - Eu dito e tu escreves.
- Sim, patrão - disse ela.
Barney O'Hara tinha um amigo, um ex-duplo de nome Jack Newton. Cerca de um ano antes, Newton estivera a trabalhar num filme que estava a ser filmado nas High Sierras. O guião exigia um comboio de locomotiva e seis carros abertos para se despistarem de uma montanha íngreme. Então, cairia num precipício fundo, depois de a ponte ter sido explodida pelos maus.
Jack Newton, vestido da mesma maneira que o herói, começaria no último vagão aberto e saltaria, então, de vagão em vagão, enquanto o comboio descia pela montanha. Saltaria da locomotiva mesmo antes de ela mergulhar na garganta.
Newton estudou o comboio, a pista, a floresta que o circundava, a ravina, e disse ao realizador que a proeza não podia ser feita. O realizador disse que Newton era covarde, e que, se não a fizesse, o realizador certificar-se-ia de que ele nunca mais trabalharia em Hollywood.
110
Então, Jack Newton fizera a proeza de forma perfeita e à primeira. Escapou com um braço partido e feridas menores. Voltou, então, ao acampamento, recebeu o seu pagamento e mandou o realizador dar uma volta. Voltou para Los Angeles e abriu um bar nas traseiras de uma garagem em Cahuenga. Durante seis meses tinha convidado Barney OHara, intimando-o a aparecer, para inspeccionar o local e beber um copo em memória dos velhos tempos.
Um dia, ao fim da tarde, O'Hara conduziu Eli Hebron e Gladys Divine de volta a Beverly Hills na limusina. O supervisor dissera que OHara podia tirar o resto do dia de folga. O motorista decidiu que era boa altura para visitar Jack Newton. Foi até ao bar no seu Hupmobile e reparou na quantidade de carros estacionados ao pé da garagem. Havia de tudo, desde um Daimler Double-Sis até um Sedan Maxwell Club. Barney calculou que Newton estava bem de vida.
Entrava-se no bar passando por um dos vãos de reparações, passava-se por uma cave engordurada e batia-se a uma porta com a indicação PRIVADO. Abria-se, então, uma portinhola,e um grandalhão inspeccionava as pessoas.
- Amigo do Fig - disse secamente OHara, e a porta abriu-se imediatamente.
A sala não era grande coisa, sem luxos, mas tinha um balcão, mesas e cadeiras, e uma fila de expositores de parede ao longo de uma das paredes estucadas. Tinha uma grande fotografia do presidente Coolidge num extremo da sala, envolta em bandeiras americanas. Alguém tinha desenhado um bigode no silencioso Cal. Aqui e ali, viam-se também cartazes emoldurados de filmes. OHara calculou que o bar clandestino era frequentado por bastante gente do cinema à noite. Naquele momento, a maior parte dos clientes pareciam trabalhadores rudes e vendedores de porta-a-porta a descansar os joanetes.
Jack Newton estava por detrás do balcão. Sorriu quando OHara se encostou ao painel de madeira.
- Seu irlandês desgraçado! - disse, estendendo a mão molhada.
- Por que é que demoraste tanto tempo a vir cá?
- Fig - disse Barney OHara -, desculpa não ter vindo mais cedo. Tens aqui um belo sítio.
- Não está mal - disse Newton, pestanejando. - Dá para sobreviver.
- Aposto que sim - disse O'Hara. em tom de gracejo. - Vendes alguma coisa que não me ponha bêbedo à primeira?
- Para ti, tenho uma coisa especial. Acabadinho de chegar. Cerveja enriquecida?
- Boa ideia - aquiesceu O'Hara.
111
Eddie - Newton chamou um dos criados -, substitui-me,
está bem?
Pegou numa garrafa sem rótulo que estava atrás do bar. Depois encheu um jarro com cerveja. com as duas coisas na mão, levou-o para um reservado na parte de trás. Sentaram-se de frente um para o outro. Outro empregado trouxe quatro copos vazios que estavam quase limpos. Newton encheu os copos de uísque e cerveja.
Era um homem magro e activo. Ou tinha sido. A cerveja começava a fazer efeito; o avental era grande de mais. A cara cheia de cicatrizes e amistosa ainda era magra, e tinha uma gargalhada que abanava as paredes. Combatera na ofensiva de Meuse-Argonne, mas ninguém sabia disso. Tinha empenhado as medalhas.
- À proibição! - brindou, levantando o copo. - Que dure muito tempo.
- Beberam os uísques. Fig olhou ansiosamente para o seu convidado.
- Está bom?
- Suave como um rabinho de bebé - assegurou-lhe O'Hara. Canadiano?
- Sim. Trazem-no pela costa em barcos de pesca. Como é que estão as costas, Barney?
O motorista voltou a cabeça lentamente para a frente e para trás no colarinho rígido.
- Não estão mal - disse. - Piora quando chove. Mas, normalmente, esqueço-me dele. Tenho sorte por estar vivo.
- Não temos todos? - disse Newton. - Serve o teu; não vou esperar por ti.
Beberam devagar, satisfeitos, a bisbilhotar preguiçosamente acerca de amigos comuns. Quem estava a trabalhar onde, quem tinha morrido, quem tinha deixado o ramo para comprar uma plantação de laranjas.
- Parece-me que tu estás bem - disse Newton. - É assim, Barney?
- Oh, claro - confirmou OHara. - Não tenho queixas. Hebron trata-me bem. O homem é um santo.
- Ouvi dizer que o santo arranjou uma coisa para se entreter disse Newton. - Uma coisa novinha.
- Não arranjamos todos? - repetiu OHara a sorrir. A gargalhada de Newton soou com estrondo.
- Isso é verdade. Quem não consegue arranjar nesta cidade é porque não tenta.
- Tens muitos clientes do cinema, Fig?
- Muitos - assentiu Newton. - Mais tarde, quando os estúdios
112
fecham. Nessa altura, tenho três tipos no bar para dar conta do movimento.
- Os polícias deixam-te em paz?
- Oh, claro. Estão do meu lado. É melhor que estejam, os malditos; eu pago o suficiente. Os Feds são outra história. Até agora tenho tido sorte. Mas há umas quantas pessoas importantes que vêm beber aqui. DaMGM, RKO, United Artists, Fox... de todas. Executivos, estrelas, supervisores, realizadores... Gente do mais importante que há. Acho que os Feds não estão muito ansiosos por chatear pessoas influentes. De qualquer forma, têm-me deixado em paz... até agora.
- Vem cá gente da Magna? - perguntou Barney OHara, desinteressadamente, só para continuar a conversa.
- Oh, claro. Por exemplo, os principais manda-chuvas. O chefe da Polícia do estúdio. Como é que ele se chama? Esteve na Polícia de LA, depois levou com os pés quando souberam que recebia subornos.
- Timmy Ryan? - disse OHara, divertido. - Ele bebe aqui?
- Claro que sim. Pelo menos, uma vez por semana. Normalmente, mais. Começou por aparecer de uniforme. Falei com ele acerca disso. Simpaticamente, sabes como é. Por isso, agora vem vestido normalmente ou, então, se traz uniforme, fica com a gabardina vestida. Disse-lhe que os botões de latão assustariam os clientes.
- Estou a perceber como - OHara riu-se. - Nunca pensei que o Timmy fosse tão descarado.
- Ele porta-se bem - Newton fez um sinal com a cabeça. Normalmente, senta-se naquele reservado. Na esquina. Bebe com outro tipo da Magna. Não sei o nome dele.
- Oh? Como é que ele é?
- Importante. Veste-se como uma pessoa importante. Usa colete... sabes? Um tipo grande, pesado.
OHara pensou por um momento.
- Um tipo grande e pesado? Tem a cara vermelhusca?
- É esse o sujeito. Conhece-lo?
- Talvez - disse lentamente Barney O'Hara. - Parece o Charlie Royce. Ele é supervisor. Importante. Tem montes de massa. Ele e o Timmy Ryan encontram-se aqui com frequência?
- Uma ou duas vezes por semana, pelo menos. Normalmente, Ryan chega primeiro, depois entra o outro tipo e vai ter com ele ao reservado. Falam muito próximos um do outro. Têm ar de cúmplices, aqueles dois.
- Que horas são, Fig? Normalmente, quando é que se encontram?
113
Oh, tarde. Tipo uma ou duas da manhã. Depois de a multidão
sair. Porquê a curiosidade, Barney?
- Curiosidade - disse OHara casualmente. - Timmy Ryan e Charlie Royce. Bem, bem, bem...
- Não devíamos beber tanto - disse ele.
- Por que não? - disse ela.
- Não sei. - Ele deu uma risadinha. Robert e a Sr.s Birkin viviam em apartamentos por cima da garagem. Mas as luzes deles estavam apagadas. Via-se uma luz fraca no cimo do monte onde Douglas Fairbanks tinha tido em tempos uma coutada, onde costumava matar coiotes. Mas, além daquela luz tremeluzente, a única iluminação que havia vinha do frio olhar das estrelas, do brilho pálido da Lua.
Soprava uma brisa louca de oeste, sul, leste, que rodopiava alegremente. Trazia lufadas alternadas de calor e frio. O céu estava lindo, e encontravam-se sozinhos na terra. Na escuridão cerrada. Estavam sentados na beira da piscina. Tinham tirado os sapatos e as meias. Hebron tinha enrolado as bainhas das calças. Chapinhavam com os pés nus na água escura.
- Os dedos são engraçados - disse Glad.
- As orelhas também - disse ele. - Costumas reparar nas orelhas? Olhar bem para elas? Também são engraçadas.
- Os lábios são bonitos - disse ela.
- Os olhos são bonitos - disse ele.
- Os dedos são bonitos.
- Os seios também - disse ele, tocando-a levemente. - Bonitos.
Ouvia-se o sussurro, o estalar e abanar de coisas. Beijaram-se seriamente. As bocas encontraram-se, encostaram-se, afastaram-se devagar.
- Oh - disse ela. E depois: - A garrafa está vazia?
- Nunca - disse ele. - Não vai acabar nunca. Glad...
- Sim?
- Só Glad.
- Agora, estou a pensar no que vou fazer - disse ela, pensativamente -, acho que o que vou fazer é tirar a roupa toda e dar um mergulho. Está bem?
- Está bem - disse ele.
- Também vens?
- Não - disse ele. - Fico aqui sentado a tomar conta das tuas roupas. Não vá entrar alguém e dar-lhes nós..
- Eli - disse ela -, isso é inteligente.
114
Ela começou a despir-se. Ele deitou-se no rebordo de azulejos da piscina. Olhou para cima fixamente. Parecia-lhe que tinham colocado uma bacia perfurada por cima da terra. Por detrás da bacia havia luz intensa. Branca. Passava através dos pequenos buraquinhos. Pensou, que se se fosse para além da bacia preta, lá fora, se conseguiria suportar a luz perfeita.
- Olha para mim - disse ela.
Ele sentou-se e riu-se. Ela estava de pé, numa pose September Morn: um joelho flectido, as mãos a cobrir os mamilos e os pêlos púbicos, com uma expressão de indescritível timidez.
- Esconde-esconde - disse ele. - Estou a ver-te. Ela abriu os braços de repente.
- Apresentamos - disse ela, em voz alta - a única e genuína... a maior... a mais sexy... a mais nova... Gertrude Ederle! - gritou, e atirou-se para a piscina, a abanar pés e mãos.
Ele puxou os pés da água. Sentou-se com as mãos em volta dos joelhos. Viu-a a chapinhar, a gritar, a nadar freneticamente para aquecer. Depois acalmou. Boiou de costas no meio da piscina. As pernas e os braços estavam abertos. Estava de olhos muito abertos a olhar para o céu escuro.
Ele viu apenas uma aparição, um fantasma branco lustroso. Viu a cara dela, metade do seu corpo: seios brancos a brilhar, grande estrela de braços e pernas abertos. A anémona do mar subia e descia suavemente com a ondulação. Ela afastava-se dele a flutuar, tocada pela lua, com o corpo a rodar lentamente. Levantou uma mão languidamente. Caíram gotas de água a brilhar dos dedos dela. O silêncio era opressivo. Ele ficou sentado, imóvel, a olhar. Depois fechou os olhos. Continuou a ver a estrela branca flutuante.
Ela nadou lentamente na direcção dele. Ele estendeu uma mão, içou-a a pingar. Pôs uma mão levemente sobre as suas costas longas. Tocou na carne fresca, toda ela tão macia e delicada como lábios molhados. Os mamilos duros pareciam rebuçados de cereja.
- Fria? - perguntou ele.
Ela assentiu, a bater os dentes. Ele começou a despir o casaco de flanela, para o pôr por cima dos ombros dela. Mas ela abanou a cabeça.
- Quero a tua camisola interior - disse ela.
- Porquê? Por que é que a queres, Glad?
- Quero vestir o que está perto de ti. Mais próximo de ti.
Ele tirou o casaco e a camisa. Tirou a camisola interior de algodão por cima da cabeça. Pô-la por cima dos ombros dela, com as mangas curtas caídas sobre os seios. Ela esfregou o tecido pela cara, cheirou-o, beijou-o.
Caminharam até ao extremo da piscina, com os braços em volta
115
um do outro. Ele pôs o casaco debaixo de uma magnólia baixa. Sentou-se, depois deitou-se, com as mãos cruzadas atrás da cabeça. Ela ajoelhou-se ao lado dele, inclinada para ele, apoiada nas mãos. A camisola interior abanava nos ombros dela. Ele olhou para ela, tentando identificar a imagem. A rapariga White Rock!
Por que é que te estás a rir? - perguntou-lhe ela.
Ele disse-lhe e ela sorriu. Ela sentou-se nos calcanhares. Pôs uma mão aberta sobre o lado esquerdo do peito dele.
- O meu coração - disse ele.
- Eu sinto-o - disse ela. - A bater. Tuin, turn, turn. Ela debruçou-se para beijar o coração dele.
- Vem viver comigo, Glad - disse ele. - Aqui, na minha casa. Vive comigo.
- Está bem - disse ela. - Eu venho. Enquanto tu quiseres. Quando quiseres que eu me vá embora, diz-me. e eu irei. Está bem, Eli?
- Está bem - disse ele. - Mas se tu quiseres ir embora, é só saíres. Não é preciso explicações.
- Eu não vou querer ir embora. Toda a vida sonhei com uma casa assim. Nunca me irei embora.
- Para já, não - disse ele. - Talvez...
- Não irei - disse ela. Tocou nele. - Quero-te dentro de mim, Eli. Queres?
- És virgem, Glad?
- Sou. Ensinas-me?
- Se puder. Queres subir para o quarto?
- Não - disse ela. - Continua a ser o quarto dela. Aqui. Agora. Ela espreguiçou-se, deitou-se devagar por cima dele. Ele sentiu
.a pele fria e macia dela. Segurou as costas sinuosas dela. Ela aproximou o rosto até nadarem nos olhos um do outro.
- Amo-te - disse ela.
- Amo-te - disse ele.
- Não vejo que mude seja o que for - disse Charlie Royce. - Só dá mais consistência à coisa.
- Tem a certeza? - disse Bea Winks, duvidosa. - Se ela for viver com ele de livre vontade? Isso prova que foi voluntário. Não houve força ou coersão. Ele não a raptou, violou, ou nada do género.
- Timmy? - perguntou Royce.
- A lei é a lei - disse Ryan, firmemente. - Quer a rapariga se tenha entregue voluntariamente ou pela força e coersão. Rapto estatutário. Contribuição para a delinquência de uma menor. Até rapto, se o procurador tiver vontade de aparecer. Eu diria que o
116
apanhámos, Sr. Royce, a partir deste momento. Tanto faz que a rapariga vá viver para lá ou não.
- O homem é louco! - disse Royce, quase zangado.
- Oh, quanto a isso não há qualquer dúvida. Tarado, ele é. Não é o primeiro a perder o juízo, nem é o último.
Estavam no quarto forrado a chintz do segundo andar de Bea Winks. Royce tinha trazido uma garrafa de White Horse de antes da guerra. Estavam a misturá-lo com ginger-ale Vernor.
- Talvez devêssemos esperar - disse Bea Winks. - Talvez a rapariga fique grávida. Provocava mais impacte na imprensa.
- Ele usou preservativo? - perguntou Royce. - A rapariga disse?
- Não disse, e acho que ela não sabe.
- Que horror! - disse Royce.
- Ah, bem - disse Timmy Ryan, alegremente -, é a natureza da besta. Não conte com a criancinha, Sr. Royce. O Hebron podia despachá-la facilmente. Através do rico médico dele de Beverly Hills ou com uma viagem rápida ao México. Na minha opinião, já tem que chegue. Podia espalhar a notícia amanhã.
- Claro, claro - murmurou Royce.
Levantou-se de repente, começou a andar de um lado para o outro, saltitante, na sala. Os outros continuaram uma conversa incoerente em voz baixa. Royce escutou, desatento. Timmy Ryan queria espalhar a notícia do comportamento vicioso de Hebron, pagando a um repórter que tinha tratado Ryan de forma benevolente durante os seus recentes incómodos com a lei. Timmy achava que devia um favor ao repórter.
Bea Winks achava que uma chamada anónima para Louella ou um dos outros repórteres de mexericos seria mais sensato. Teria o mesmo resultado e minimizaria os riscos de revelar a identidade dos conspiradores.
A ouvi-los, observando os seus movimentos enquanto falavam, bebiam, fumavam, Royce pensou mais uma vez na motivação deles. Os de Ryan não eram muito difíceis de
adivinhar: ganância e uma ponta de maldade. A ânsia de entrar na conspiração de Bea Winks era mais difícil de analisar. Afrontas sofridas; insultos de Hebron; menosprezos
reais e imaginários praticados por aquele homem frio e distante, que provavelmente nunca se apercebera do medo e ódio que inspirava, não só pela posição de autoridade que ocupava mas também pela segurança e elegância despreocupada com que vestia, e uma superioridade expressa de uma forma não menos detestável por ser natural e justificada.
Além do mais, calculou Royce, a motivação de Bea Winks devia ter qualquer ligação com a sua sexualidade. Parecia ter feito de Eli
117
Hebron um alvo para o seu ódio virulento contra os homens. Como se a queda dele fosse o seu triunfo pessoal contra um sexo que tinha galardoado o seu talento e ambição, relegando-a para um trabalho mal pago e reduzindo-a - não tinha bem a certeza de como tinha sido feito - ao estatuto de dona de um cabaré, tratada com desprezo cínico e amistoso.
Charlie Royce percebeu de repente que os outros dois tinham interrompido a conversa. Estavam a olhar para ele com curiosidade, à espera...
- Eu nunca pensei que ele se atirasse de cabeça desta maneira
disse Royce. - Pedir-lhe para ir viver com ele. O Annenberg vai
atirar-se ao ar. Se ele não der cabo do Hebron, o banco dá. A Magna não resistiria ao escândalo. Não posso crer que ele tenha sido tão estúpido.
- Eu acho que o homem está mesmo apaixonado - disse Ryan, indulgentemente. - Está a pensar com os tomates... perdão, Menina Winks.
- Acho que já ouvi essa palavra antes, Timmy - disse ela. Charlie Royce voltou para o seu cadeirão e afundou-se novamente nele.
- Sabem - disse, agradavelmente admirado -, nem sequer temos de espalhar a notícia. Não digas ao teu repórter, Timmy. Não temos de fazer nada. A notícia vai correr; vocês conhecem Hollywood. Se não acontecer nada dentro de uma ou duas semanas, um telefonema para a Louella acerca da verdadeira idade da rapariga vai pôr tudo a mexer, como diz a Bea. Ou, então, fazemos aparecer a mãe no estúdio a fazer um escândalo. Mas vamos manter-nos afastados disto, tão longe quanto pudermos.
- Ah, o senhor é dos manhosos, Sr. Royce - Ryan sorriu. - O senhor é feito para a política. Sim, eu acho que a sua ideia é a melhor. É só deixar o homem enforcar-se.
- Que é que eu devo dizer à rapariga? - perguntou Bea Winks.
- Diz-lhe para se mudar para lá - disse Charlie Royce. Pegou no copo, ergueu-o contra a luz e olhou lá para dentro atentamente.
- Apanhei-o - disse, feliz.
A casa de Marcus Annenberg, em Sherman Oaks, era uma mansão Tudor. As paredes eram de estuque trabalhado. As janelas eram pequenas, com vidros coloridos biselados; o tecto dava a impressão de colmo com azulejos cerâmicos habilmente desenhados.
O interior era rico, sólido, escuro. Viam-se vigas de tecto expostas por todo o lado. As portas de nogueira tinham cinco centímetros de espessura. Tinha nichos nas paredes, janelas de sacada, portas
118
com vidro colorido. Quadros a óleo sombrios adornavam as paredes, principalmente com cenas pastorais e naturezas mortas com frutas frescas e galinhas mortas. Tudo em molduras barrocas douradas. A mobília era pesada, de mogno demasiado trabalhado. Estava revestido com veludo castanho e tecidos aveludados floridos. com capas protectoras de rendas feitas pela Sr.a Florence Annenberg.
Quase todas as noites, depois de jantarem sozinhos, O Sr. e Sr.a Annenberg passavam uma hora na sala de projecção. Tinham uma longa colecção de filmes recentes que
incluíam cópias raras de The Great Traiu Robbery, Rescued from the Eagles Nest e o combate Corbett-Courtenay de 1894. A maior parte dos últimos filmes de Edison, Pathé, Vutagraph, Biograph, Essanay, Imp, Bison e Selig estavam na galeria de cinema de Marcus Annenberg. Coleccionava-os porque gostava de os ver. Traziam-lhe recordações. De estrelas, realizadores, executivos, de derrotas e vitórias, de amigos e inimigos.
Marcus e Florence partilhavam uma predilecção especial por comédias de palhaços. Os últimos Keystone de uma e duas bobinas eram os seus favoritos. Já tinham visto Cohen at Coney Island cem vezes e ainda se riam. Ford Stef ling, Mabel Normand, Hank Mann, Fatty Arbuckle e Mack Swain eram como família. E, é claro, Charlie Chaplin. Annenberg achava que a dança de Chaplin com Marie Dessler em Tillies Punctured Romance era a cena mais engraçada alguma vez filmada. Podia vê-la dúzias de vezes e ainda ria até ficar sem respiração, com o peito a doer, a cara congestionada, e Florence se voltar para ele, alarmada.
Naquela noite, Annanbergh tinha pedido a Jules, o mordomo negro, para preencher a hora de visionamento com velhas curta-metragens de Chaplin: The Tramp, The Adventurer, The Cure, Thelmmigrant e outros. Marcus e Florence instalaram-se com um prato de biscoitos no meio deles. Quando a luz de tecto da sala de projecção se apagou, era como se estivessem juntos novamente num salão de Kinetoscope, na Fourteenth Street em Manhattan.
Charlie subiu os degraus do sanatório aos tropeções e ficou preso na porta rotativa, a dar voltas atrás de voltas. Marcus Annenberg começou a rir.
- E o Eli - disse a Florence. - Não gosto daquilo.
-A rapariga? - perguntou ela, vendo Charlie a cair pela escadaria larga.
- Em primeiro - disse ele -, ela trabalha para nós. E não gosto disso. Se quiser ir a outro sítio, não me importo. Mas nos terrenos não está certo. As pessoas falam, mexericam. À boca pequena. Descontrola as coisas.
Funcionários tentaram dar um recado a Charlie; ele escapou das
119
mãos deles num bailado primorosamente ritmado. Os dois Annanberg riram à gargalhada.
- Já viste a rapariga? - perguntou ela.
Bonita - disse ele. - Não tanto como a Grace Darling, mas
é bonita. Pequenina e magrinha. O que ele vê...
A conduta de vapor de Charlie tinha uma enorme colecção de garrafas cheias. Foi lançado uísque para a fonte onde os doentes tomavam banhos medicinais. O sanatório começou a ficar aos bocados. Os Annenberg agitavam-se, deliciados.
-Achas que devo dizer alguma coisa, Fio? - perguntou Marcus. _- Ao Eli?
- Talvez passe - aconselhou ela. - Alguns dias, algumas semanas...
- Vai continuar - disse ele. - É mau. Mau para o Eli. Ele é um executivo. Como se fosse meu filho. Um dia vai dirigir a companhia. Não devia comportar-se mal. Não está certo. Além disso, prejudica o estúdio. Boston ainda não disse nada. Não quero que descubram que o nosso supervisor principal anda com uma miúda que trabalha para nós.
- Como é que eles iriam descobrir? - perguntou ela.
- Fio, Fio, está em todas as colunas de mexericos. Toda a gente sabe. Anda toda a gente a falar nisso. Eu recebo chamadas E ele leva-a aqui, ali, a todo o lado. Em público. Ele não se importa! É como se tivesse perdido a cabeça.
Charlie estava a escorregar, a deslizar, às voltas, a cair. Os Annenberg gritavam, divertidos.
-Talvez fosse melhor falares com ele, Marcus-disse ela.-Explica-lhe acerca do empréstimo. Do que ele está a fazer ao estúdio. E ao seu próprio trabalho, também.
- Ao seu futuro - disse Marcus Annenberg. - Tratei-o como um filho que nunca tivemos. Não foi, Fio?
- Foi, Marcus.
- E ele faz-me isto. Por causa de uma tipa qualquer. Como se eu não tivesse já problemas que cheguem. O meu cérebro... está a ferver. Vais dar-me um comprimido esta noite. Já não aguento. O dinheiro está curto. Devemos converter-nos ao som? O empréstimo de Boston. As receitas estão em baixo. As pessoas ficam em casa a ouvir rádio. Que é que está a acontecer? Não sei.
- Marcus - alegou ela -, reforma-te. Já temos que chegue. Por favor, afasta-te.
- Reformar-me? - disse ele, lentamente. - Que é que eu faria... esperar a morte?
- Chiu, chiu - disse ela, pondo um dedo nos lábios. - Não fales assim. Olha a ressaca do Charlie.
- vou falar com Eli - disse ele.
120
Charlie Royce entrou, vindo dos terrenos das traseiras, e encontrou uma mensagem na sua secretária. Tinha ligado um Sr. Benjamin Sturdevant, do escritório de advogados Sturdevant Lee. Pedia que o Sr. Royce lhe telefonasse o mais depressa possível.
- Que raio? - disse Royce, em voz alta. Chamou a secretária pelo intercomunicador e perguntou se aquele Sturdevant tinha dito o que queria. Ela disse que não, apenas que agradecia que o Sr. Royce lhe ligasse.
Portanto, Royce ligou para Nate Bigelow, um advogado dos quadros da Magna Filmes, Inc.
- Nate? Charlie Royce. Já ouviste falar de um advogado chamado Benjamin Sturdevant? A firma é Sturdevant Lee.
Nate Bigelow riu-se. Disse que Ben Sturdevant era um dos advogados mais ricos da zona de Los Angeles, se não o mais rico. A sua firma representava grandes proprietários de terras, investidores, alguns bancos, companhias de petróleos, produtores de citrinos, associações.
- E políticos - acrescentou Bigelow. - Sturdevant está cheio de políticos.
- Locais ou estaduais? - quis saber Royce.
- Locais, estaduais e nacionais - disse-lhe Bigelow. - Não lês os jornais? Ele foi presidente do Comité Republicano do Estado. O pai da mulher esteve envolvido naquela coisa do Teapot Dome. Não foi para a cadeia, mas devia ter ido. Por que é que queres saber informações do Ben Sturdevant?
- Obrigado, Nate - disse Royce, e desligou. Pensou durante uns momentos, curioso... Depois ligou a Benjamin Sturdevant. Uma secretária fê-lo esperar um momento, mas apenas um momento.
- Sr. Royce? - disse uma pesada voz de tribunal. - Fala Benjamin Sturdevant. Obrigado por ter respondido ao meu telefonema. Parece-me que temos um amigo comum.
- Sim? - disse cautelosamente Charlie Royce. - Quem poderá ser?
- Um amigo comum em Boston - continuou a ressoante voz suavemente. - Estava com esperanças de que nos pudéssemos encontrar.
- Por que não? - disse Royce.
- Conhece o Club Valhalla?
- Já ouvi falar.
- Suponha que nos encontramos lá para almoçar. Ao meio-dia, amanhã. Estaria bem para si?
- Estaria muito bem - disse Royce.
121
Óptimo. Pergunte por mim na entrada. Vejo-o amanhã,
Sr. Royce.
O supervisor desligou lentamente.
O Valhalla Club, no Wilshire Boulevard, perto de Beverly Drive, era o clube privado mais prestigiado a sul de São Francisco. Outros clubes exclusivos podiam vangloriar-se dos seus courts de ténis, campos de golfe, piscinas, ginásios, sendas, salas de jantar e bebidas clandestinas de confiança. O Valhalla tinha todas essas coisas, mais a aceitação exclusiva de gentios que incluíam, pela última contagem, cinquenta e nove milionários. Banqueiros, políticos, homens da imprensa, fazendeiros, homens do petróleo e alguns executivos do cinema suavam juntos na sauna do Valhalla. A jóia inicial era de cinco mil dólares; a quota anual tinha subido recentemente para mil e quinhentos dólares.
O clube estava instalado numa mansão que pertencera inicialmente a um barão, que se tinha escapado do país para a Grécia depois de descobrir o flagrante delito da
sua mulher com um criado mexicano. O seigneur tinhoa morto os dois a tiro com um par igual de pistolas engastadas em prata Model 1775 British Tower. As armas estavam
agora expostas numa caixa de vidro na sala de bilhar do Valhalla.
O clube tinha acrescentado duas alas à mansão original, alargado a cozinha e instalado a sauna, vestiários, ginásio e chuveiros na cave. Os quartos, em cima, tinham
sido transformados em salas de jantar privadas e escritórios do clube. O quarto em que tinham ocorrido os assassinatos era agora a sala de descanso das senhoras. A sala de jantar principal, salão de baile, sala de bilhar, sala de jogos, livraria e sala de leitura eram no rés-do-chão. O jardim original tinha levado pavimentos novos para courts de ténis e um oliveiral fora cortado para instalar a piscina. Os estábulos do barão funcionavam agora como garagem. Até os ricos membros do Valhalla se maravilhavam com a extravagância de um homem que mandara apainelar os estábulos com mogno e os tinha pavimentado com azulejos italianos.
Charlie Royce levou o seu Chrysler Imperial até um empregado uniformizado para que ele o estacionasse. Deu uma rápida olhadela em volta, e depois subiu rapidamente os degraus de mármore até à entrada. Outro empregado abriu-lhe a porta. Caminhou directamente para a secretária, sem olhar para a movimentação da entrada, mas tendo consciência dela. Perguntou pelo Sr. Benjamin Sturdevant. Outro empregado, este um jovem rapaz, foi mandado imediatamente. Charlie Royce esperou, inspeccionando o tecto pintado com representações de nuvens, querubins, ninfas, sátiros e um
122
sol resplandecente a inundar uma Califórnia cheia de laranjais, nogueiras, missões e poços de petróleo.
Por um momento pensou que o homem que se dirigia a ele, de mão estendida, era Adolphe Menjou. É claro que não era. Mas Benjamin Sturdevant era suficientemente parecido
para passar por Menjou. Tinha o mesmo cabelo brilhante e ondulado, com risco ao meio. O mesmo nariz patrício. O mesmo bigode grande. Talvez o advogado tivesse consciência
da semelhança; estava vestido como Menlou em A Woman of Paris (realizado por Chaplin). Usava um colarinho engomado com laço às bolinhas, um jaquetão preto cintado,
calças cinzento-claras, polainas brancas. O lenço que trazia no bolso do casaco estava dobrado em três pontos precisos.
- Sr. Royce! - exclamou, tomando a mão do supervisor nas suas.
- É um prazer! O Sr. Archer disse-me tantas coisas boas acerca de si. Tenho estado ansioso por travar conhecimento consigo.
Charlie Royce sabia que era adulação, mas não conseguiu resistir-lhe.
- Obrigado - disse, asperamente. - Como é que está Archer?
- Óptimo - disse Sturvedant. - Manda cumprimentos, lá, Harry. lá, Ed - acenou a dois homens que passavam. - Harry Folsom e Ed Heinz-disse a Royce. - De Sacramento. Interessa-se por política?
- Não. Não muito.
- Devia interessar-se - Sturdevant sorriu. - Uns tipos óptimos. Do nosso género. Bem, vamos ver então... Não servem bebidas fortes na sala de jantar, claro. Mas nós guardamos sempre alguma coisa nos armários. O que diria a uma pequena libação para animar o espírito?
- Acho óptima ideia.
- Fico feliz por saber que não é um abstémio.
O advogado seguiu à frente por um corredor, atravessou uma porta giratória e desceram uma larga escadaria. Parava frequentemente para acenar a pessoas que passavam, apertava mãos rapidamente ou trocava algumas palavras.
- Parece que conhece toda a gente - disse Royce, impressionado.
- Bem, talvez não toda a gente - Sturdevant riu-se. - Mas sou conhecido. Tenho muitos amigos. Muitos bons amigos. Este último tipo era Fred Warnicke. Está a iniciar Sherman Oaks. Uma mina!
O vestiário estava cheio de vapor, com homens meios nus a correrem para os chuveiros, para o ginásio, para a sala de massagens.
123
Um homem completamente nu, muito bem dotado, pavoneava-se
por ali.
Um dos membros mais proeminentes - disse Benjamin
gturdevant, causticamente. Mas o humor perdeu-se em Royce.
Sentaram-se num banco de madeira. O advogado tirou uma garrafa de gim do armário.
- Vai gostar disto - disse ele. - Anterior à guerra. Normalmente, tomo-o com gelo e umas gotas de lima fresca. Que é que acha?
- Para mim está perfeito - disse Royce.
- Óptimo. Benny! - gritou Sturdevant. - Onde é que estás, Benny?
Momentos depois, apareceu um homem a bambolear-se, saindo da sala de massagem. Era grande, ligeiramente musculado e vestia uma camisola interior branca, transpirada, e calças de lona brancas. Os pés chatos estavam nus. Uma das suas orelhas era uma massa grumosa de cartilagens. Tinha cicatrizes profundas por cima dos dois olhos.
- Chamou-me, Sr. Sturdevant? - disse o homem, em tom estridente, com uma voz tão irritante como a de Barney OHara.
-Benny, gostaria que conhecesses um grande amigo meu, Charlie Royce. Sr. Royce, este é o famoso Benny Filippo.
- Oh, Sr. Sturdevant - disse o grande homem, apertando a mão de Royce. - Não sou famoso.
- Claro que és. O Benny lutou com o Jack Sharkey - explicou o advogado a Royce.
- E teria dado cabo dele - disse o gigante. - Mas ele cortou-me e o sangue cobriu-me os olhos. Mas se não tivesse...
- Dois preparados - disse Sturdevant. - Gelo e rodelas de lima fresca.
- É para já, Sr. Sturdevant - Benny assentiu e saiu a arrastar os pés.
- Quando começa a falar naquele combate não há maneira de o calar - disse Sturdevant.
- Isto costuma estar sempre assim tão cheio? - perguntou Royce, a olhar em volta.
- Sim, ao meio-dia enche. Os tipos passam por cá para dar um mergulho ou para treinar. Ou para virem ao armário tomar algumas antes de almoçar. Ah, aqui está... Obrigado, Benny. Não te esqueças de te baixar.
- O senhor também, Sr. Sturdevant.
- É uma pequena brincadeira que eu é o Benny temos - disse o advogado, servindo o gim. - Não te esqueças de te baixar. Fá-lo sempre rir.
- Pois - disse Royce. Ergueu o copo cheio. - A sua!
124
- Bem, vamos brindar à nossa! - Sturdevant sorriu e ergueu o copo. - A uma nova e proveitosa amizade!
- Bebo a isso - disse Royce. Depois: - Não estava a brincar; é material do bom.
-Ainda bem que gosta. Se quiser uma caixa, diga-me, Sr. Royce. Então, mas que raio, estamos os dois no mesmo barco... certo? Que tal "Charlie-"?
- Por inim está bem.
- E chame-me Ben. Toda a gente me trata por Ben... quando não me tratam por coisas piores.
Royce sorriu obsequiosamente e beberricou a sua bebida lentamente. Pensou a que levaria toda aquela afabilidade.
Afastaram os pés para permitir que dois homens gordos, de toalhas atadas nas ancas, se arrastassem para a sauna.
- Está muito calor para si aqui, Charlie?
- Eu aguento bem, Ben.
- bom sítio para falar de negócios - disse o advogado.-Na sala de jantar, as mesas estão tão próximas que não se sabe quem pode estar a ouvir.
Fez uma pausa para pôr mais gim nas bebidas.
- Deixe-me contar-lhe uma coisinha sobre a minha pessoa - disse. - Para que saiba o motivo de tudo isto. O banco do Sr. Archer pediu-me... melhor, pediu à minha firma... para representar os interesses deles na zona de Los Angeles. Acabei de chegar de Boston... é uma cidade fria, húmida e miserável... e entrei em contacto consigo imediatamente.
Royce não respondeu. Estava só a ouvir...
- Archer pediu-me para lhe dizer o quanto aprecia esses relatórios confidenciais que tem estado a fazer. Muito valiosos, disse ele. Deixou-me lê-los e eu concordo. Estão ali informações muito úteis, Charlie. Especialmente acerca da conversão ao som.
- Acha que o faremos? - perguntou Royce, ansiosamente. - A Magna vai converter?
- Bem, há problemas, Charlie - disse Sturdevant devagar. E um investimento brutal, como muito bem sabe, e Archer e a sua gente não têm a certeza se a despesa será justificada...
- Oh - disse Royce, derrotado.
-Tendo em conta a presente administração e políticas da Magna
- acrescentou Sturdevant.
- Ah - disse Royce, de novo animado.
- Temos realmente um problema aqui, Charlie. Ou vários problemas. Agora vou ser absolutamente franco e honesto e correcto consigo. Archer disse-me que você era um homem em quem se podia confiar para manter a boca fechada.
125
Eu não falo de mais - disse Royce brevemente.
- Óptimo. Um dos problemas é o empréstimo que a Magna está a tentar conseguir no banco de Archer. Querem muito dinheiro para aumentar a produção e comprar mais cinemas aqui e em mercados estrangeiros. Outro problema é a conversão ao som. Vale o investimento necessário, ou será apenas uma moda passageira?
- O som vai... - começou o supervisor.
- Não, espere um momento, Charlie, deixe-me acabar. Outro problema é a situação global do negócio do cinema. Até agora tem estado a ser administrado por comerciantes que entraram no negócio por acaso e têm estado a dirigi-Io sem fibra desde então. Talvez seja o momento de verdadeiros americanos transformarem o cinema numa verdadeira indústria, como qualquer outra, e trazer novos métodos de negócio e procedimentos de gestão actualizados.
- Exactamente o que tenho andado a pensar - disse Charlie Royce.
- Por fim, temos um problema com a actual administração da Magna. Pelo que tem andado a escrever a Archer e pelas informações que consegui recolher através de bons amigos... alguns precisamente neste clube... tudo o que posso concluir é que Marcus Annenberg está no fim, quase senil, e a perder o controlo do que se está a passar. Seja honesto, Charlie... estou certo?
- Está absolutamente certo, Sr. Sturd... Ben.
- Por isso, naturalmente, pensámos... ou melhor, o Sr. Archer, os sócios e eu... que Eli Hebron assumiria o lugar de topo na Magna. Parecia um homem capaz, ambicioso, talentoso. Mas então você escreveu que ele estava envolvido com uma jovem que, ouvi dizer, está actualmente a trabalhar na Magna. Ouvi mexericos acerca disso neste mesmo vestiário, e li numa coluna de jornal. Portanto, acredito que seja verdade.
- Claro que é verdade - disse Royce. - Pergunte a quem quiser.
- Só há uma coisa que nos intriga, Charlie - disse suavemente Sturdevant. - No seu relatório, disse que esta mulher do Hebron é menor. Não vi isso em qualquer coluna e não ouvi qualquer mexerico acerca disso. É verdade?
Recuaram mais uma vez. Desta vez, um quarteto vestido com calças de ténis, carregando raquetes ovais, abriu passagem. Charlie Royce agradeceu a interrupção. Deu-lhe oportunidade de considerar o que seria melhor para si.
- É verdade - disse ao advogado. - Eu já vi provas. A rapariga tem quinze anos. Não há dúvida quanto a isso. Ê, neste momento, está a viver em casa dele.
- A viver com ele? - disse Sturdevant, chocado. - Oh, meu
126
Deus, isso já chega! O escândalo vai ser prejudicial, muito mau mesmo!
Olharam para dois homens que saíam do duche, com as barrigas a abanar à sua frente. Riam à gargalhada, a bater com as toalhas molhadas nas ancas pragueadas um do outro.
- Charlie - disse Ben Sturdevant -, essa prova que viu da idade da rapariga... O que é... certidão de nascimento?
- Sim.
- Não há hipótese de haver erro? Uma falsificação?
- Não. É autêntica.
- E onde é que está a certidão neste momento? Royce olhou para ele.
- Num sítio seguro - disse.
Sturdevant devolveu-lhe o olhar, e depois pôs mais gim nos seus copos. Levantou o seu ao alto num brinde.
- À juventude ardente - disse, sorrindo friamente. Bebeu um golo. Depois:-Vou dar um palpite, Charlie. Pode dizer-me se estou certo ou errado. Parece-me que não gosta de Eli Hebron.
- Certo - disse Charlie Royce. - Odeio aquele filho da puta! As palavras, pronunciadas em voz alta, intoxicavam-no.
- Importa-se de me dizer porquê? - perguntou o advogado.
- Primeiro, é judeu. Talvez isso me faça parecer tacanho. Não me importo com isso. E assim que sou. Prefiro trabalhar com americanos a cem por cento.
- Não precisa de se desculpar por isso, Charlie. Muitos de nós sentimos o mesmo, incluindo o Sr. Ford.
- E Hebron tem umas ideias fantasiosas acerca dos filmes que eu acho que são uma treta. Desculpe a linguagem, Ben. Oiça-o, e vai achar que cada filme tem de ser uma obra de arte. Eu acho que os filmes são um produto comercial, tal como o trigo ou o ketchup. Um produto de entretenimento. Descobrir o que os clientes querem e dar-lhes. Quanto a mim, se um filme não dá dinheiro, é um mau filme. Apesar de ser judeu, Hebron não pensa assim. É um péssimo homem de negócios.
- Hum - disse o advogado, pensativamente, a olhar para o copo.
- Interessante. Charlie, eu disse-lhe que lhe ia falar sem reservas e vou. Há mais alguém que saiba a verdadeira idade da rapariga do Hebron?
- Algumas. Mas vão ficar caladas se eu lhes disser para o fazerem.
- Sugiro-lhe que faça exactamente isso - disse categoricamente Sturdevant, levantando o olhar para Royce. - Não quero saber o que vai custar. Não se preocupe com dinheiro. Mantenha tudo em segredo. Não é agora o momento de espalhar o nome de
127
Hebron pelos jornais de escândalos. O Gabinete Hays cairia sobre a Magna com a força toda. As igrejas envolver-se-iam, e, antes de darmos por isso, os cinemas começariam a cancelar as marcações. Até mesmo um boicote público. Não queremos isso, pois não? . Acho que não - disse Royce em voz baixa.
- Segure os cavalos, Charlie - frisou o advogado, dando uma palmadinha no braço do supervisor. - Só mais um tempinho. Passam-se muitas coisas de que não tem conhecimento. Mas posso dizer-lhe que é muito possível que Annenberg seja corrido num futuro próximo. Quando ele sair, Hebron vai. Mas calmamente, sem escândalos. E, quando isso acontecer, garanto-lhe que a nova gerência não se vai esquecer dos amigos. Pense nisso, Charlie.
- Está bem - Royce assentiu. - Eu vou pensar nisso, Ben.
- Óptimo! - gritou Sturdevant, dando uma palmadinha no ombro dele. - Assim é que é! Agora, vamos até lá acima ver o que é que o cozinheiro tem para nós. Quero apresentar-lhe alguns tipos, Charlie. Tipos de iniciativa e com energia. Vai gostar deles. São do nosso estilo.
E Charlie Royce conheceu-os mesmo - antes, durante e depois do almoço. Homens amáveis, bem vestidos e bronzeados com a segurança franca do dinheiro sonante. Falaram principalmente de política. Corria o boato de que Calvin Coolidge tinha decidido não concorrer em 1928. Estavam de acordo de que, se isso fosse verdade, os Republicanos não teriam melhor para fazer do que nomear Herbert Hoover.
- Um homem de negócios - disse alguém. - É bom para o país.
- É um californiano - disse outra pessoa. - bom para nós! Houve piscadelas de olhos, gargalhadas e palmadinhas nas
costas. Passaram uma caixa de Caronas em volta. Afundado numa cadeira de pele, na biblioteca revestida a madeira, a dar baforadas no seu bom charuto, a ouvir estes ricos e geniais tipos, Charlie Royce decidiu que tinha encontrado o seu lugar.
Mildred Eljer apareceu no vão de entrada aberto do edifício da Maquilhagem e Guarda Roupa. Ficou ali, a olhar ansiosamente para Eli Hebron. Ele não olhava na direcção dela. O que estava a fazer era mais importante.
- Não sei, Sr. Hebron - disse Davey Win sor, vagamente. Suspirou. - É o maior desafio da minha carreira.
Davey era o maquilhador principal da Magna. Tinha uma equipa de três pessoas, mas Davey tratava das estrelas e da maior parte dos actores principais. Tinha sido Davey que transformara Nino Cavello
128
de um chefe apache em amante latino. Também costumava encobrir os estratagemas de Margaret Hay.
Winsor poderia ter posado para um anúncio de colarinhos Arroio. Tinha feições pesadas e bem delineadas, cabelo cor de palha, olhos azuis e uma cova no queixo com profundidade suficiente para conter uma moeda de dez cêntimos. Toda a gente sabia que era homossexual. O seu amante trabalhava nos cenários da United Artists. Dizia-se que fumavam Mary Warners e usavam combinações.
Bea Winks também lá estava. E o agente Abe Vogel e uma rapariga que trouxera, em resposta ao pedido de Hebron, para uma "tipo Clara Bow".
- Não me parece muito parecida com a Clara-disse Bea Winks. O nome da rapariga era Naomi Wollheim. Estava de pé, placi-
damente, a mastigar duas tiras de Juicy Fruit, enquanto eles circulavam à volta dela. Era baixa, forte, com coxas pesadas e peito pneumático. Tinha algo de bovino nas feições gordas, mas talvez fosse por causa da forma como ruminava. O seu cabelo era muito bonito; toda a gente estava de acordo quanto a isso. Caía-lhe em ondas castanhas brilhantes até à cintura.
- Talvez... - disse Eli Heborn, como se pensasse em voz alta. Talvez conseguíssemos fazer alguma coisa dela.
- O cabelo teria de ir - disse Davey Winsor. - Muito antiquado.
- Tudo bem contigo, miúda? - perguntou Hebron. - Se cortarmos o teu cabelo?
- Claro - disse ela.
- Claro, Sr. Hebron - disse-lhe Abe Vogel, rispidamente.
- Claro, Sr. Hebron.
- Vamos a isso, Davey - disse o supervisor. - Só para ver como fica.
Winsor sentou-a na sua cadeira de barbeiro, pôs um pano grande em volta dela. A cara da rapariga parecia mais gorda do que nunca. Estava mais exposta.
O homem da maquilhagem molhou o cabelo dela e começou a trabalhar com a tesoura e o pente.
- Vamos deixar-lhe uma franja comprida - disse. - Canudos dos lados, a caírem sobre a cara. A parte de trás vai ficar curta.
Viram-no cortar o cabelo da rapariga. A franja e os canudos sobre a cara ajudavam a reduzir o tamanho do rosto.
- Cum raio - disse Bea Winks. - Acho que vai resultar.
- Claro que vai resultar - disse orgulhosamente Abe Vogel. Eu disse-lhes... uma rapariga dos anos 20, nata.
- Vai ter de perder, pelo menos, sete quilos - disse Eli Hebron.
- Talvez oito.
- Eu garanto disso, Sr. Hebron - disse Vogel.
129
Mas não demasiado - avisou Hebron.
As sobrancelhas - disse Bea Winks. - São exageradas,
Davey?
Demasiado - disse ele. - Vamos tirá-las e vamos pintar um
risco fino, mais abaixo.
E bâton - disse Hebron. - Mais carregado no lábio inferior.
Usem brilho. Como um beiço molhado. Talvez não seja má ideia mandar tirar os dentes da frente e pôr uma ponte. Os dentes são salientes.
Olharam para a transformação da cara de Naomi Wollheim. Maquilhagem escura realçava os olhos e as pestanas. Windsor trabalhara as bochechas dela com duas sombras de pó e rouge para diminuir a gordura e dar o aspecto de ossos malares.
- Que tal está, Sr. Hebron? - perguntou o maquilhador.
- Óptimo, Davey. Exactamente o que eu queria. Está mesmo parecida com a Clara. Bea, que é que podemos fazer com aquelas mamas?
- Apertá-las - disse Winks. - com um corpete apertado para lhe fazer cintura. Saltos cerca de três centímetros mais altos do que os que usa.
Winsor tirou o pano do pescoço e ombros da rapariga. Virou a cadeira de barbeiro para que ela pudesse ver-se ao espelho.
- Aí está! - disse ele, triunfante. - Que é que achas da nova Clara Bow?
Naomi Weillheim desatou a chorar. Parecia um megafone Crane-Simplex: Ah-oogah. Ah-oogah.
- Fala-lhe do dinheiro, Abe - gritou Eli Hebron, dirigindo-se apressadamente para a porta. Mildred Eljer continuava à espera dele.
- E o Sr. Annenberg, Sr. Hebron - murmurou. - Tem ligado vezes sem conta.
- Para quê... disse?
- Não disse. O Sr. Felder está com ele.
Lulius K. Felder, o tesoureiro da Mgna Filmes, Inc. parecia um homem de um metro e sessenta e cinco, a quem tinham esticado para ficar com mais quinze centímetros. Os tornozelos apareciam nas bainhas das calças, os pulsos nas mangas da camisa, o pescoço salientava-se do colarinho. Tinha uma maçã-de-adão muito marcada e flutuante. Tudo nele parecia esticado, cara e corpo. Movia-se como se estivesse pronto para estourar, rebentado pelos problemas e irritações. Nunca ninguém o tinha ouvido rir, embora um sorriso triste e compreensivo tivesse assomado aos seus lábios quando viu John Barrymore a ser torturado em Don Juan,
Quando Hebron entrou no escritório cor de lama de Annenberg,
130
Felder estava sentado com ar meditativo no sofá mole. Tinha as mãos enfiadas no fundo dos bolsos das calças, a cabeça inclinada. A parte de trás do pescoço estava exposta, humildemente, aguardando o machado esperado.
- Então? - disse Annenberg, severamente, para o sobrinho. Não podias ter vindo quando chamei? Que é que era tão importante?
- Encontrámos a rapariga para Jazz Babies, tio Marc - disse Hebron, satisfeito. - Uma verdadeira Clara Bow... só mais gorda.
- Ela sabe representar?
- Isso não é importante. Ela é morta num acidente de carro na primeira bobina. Que é que se passa?
- Julius - disse o director do estúdio, desamparadamente. Diz-lhe tu. Quando falo nisso, o meu peito dói.
Felder levantou o olhar. Tirou as mãos dos bolsos. Esfregou a cara com as palmas das mãos. Não melhorou em nada o aspecto azincentado, as faces encovadas.
- Uma série de coisas, Eli - disse. - O empréstimo não saiu. Boston continua a empatar.
- Que vão para o diabo! - disse Hebron, furioso. - Vamos a outro banco.
- Ah! - disse Annenberg.
- Não pense que não tentei, Eli. Nova Iorque, São Francisco... em todo o lado. Todos são muito delicados, mas todos dizem não.
- Acham que Boston nos está a atraiçoar?
- Eu não iria tão longe - disse, cautelosamente, Felder. - Mas sabe como são os bancos. Todos sabem que temos feito sempre negócio com Boston, ao longo destes anos todos, para os empréstimos grandes. Agora, vamos ter com eles, e eles começam a pensar o que é que Boston saberá que eles não saibam.
Eli Hebron puxou uma cadeira que estava perto da secretária de Annenberg. Tirou um maço de Luckies.
- Importa-se que fume, tio Marc?
- Fuma lá. Suicida-te! Pregos para o caixão!
O supervisor acendeu-o. Olhou para o tesoureiro.
- Parece sério, Julius.
- Isto é apenas uma parte, Eli - disse Felder, pesarosamente.
- A frequência das salas está em baixa; sabe disso. E as receitas que esperávamos não vieram. Neste momento, estamos no limite. O prazo de pagamento das promissórias de curto prazo em bancos locais acabou. Todas em LA. O dinheiro que usamos para despesas correntes, salários, etc. até entrarem as receitas. Não podemos pagar algumas dessas promissórias. Hoje não. Não faz mal, pensei, não há problema. Não é a primeira vez que nos atrasamos, e eles prolongaram os prazos. Sem problemas. Sabem que a Magna é boa
131
pagadora. Todos estes anos. De repente, não há extensões de prazos. Estão arrogantes. Paguem. É só o que oiço: paguem!
Jesus Cristo! - disse Hebron.
Eli, cuidado com a linguagem - resmungou o velhote.
Julius, isso parece-me uma espécie de conspiração.
- Eu não diria exactamente isso - disse Felder, nervosamente, roendo a unha do polegar. - Eles sabem o que se passa na indústria. As receitas estão em baixo e eles querem o dinheiro deles.
- Mas as receitas já tiveram abrandamentos antes. Não é a primeira vez que as audiências caem. Nunca antes nos encostaram à parede, pois não?
- Não. Sempre prorrogaram.
- Então, passa-se alguma coisa - disse Hebron, peremptoriamente. Encostou-se para trás, cruzou as pernas. - Nenhum dos bancos locais vendeu acções nossas, pois não, Julius?
- Não. Até agora, não. Ou, se venderam, não ouvi falar de nada.
- Tio Marc, que é que pensa?
- Pensar? Pensar? Quem é que consegue pensar? - O velhote pôs as mãos na cabeça. - Não gosto disto, Eli. Não sei o que se passa. Está tudo a desmoronar-se. Que é que se passa? Que é que se passa?
Os outros homens desviaram os olhos. Não queriam ver o seu director executivo a esgaravatar com os dedos a tremer no xaile de lã que tinha no colo, com as lágrimas a correr de um olho de sapo.
- Tenha calma, tio Marc - disse, delicadamente, Hebron. Acalme-se. Respire fundo. Vai correr tudo bem.
- Prometes, Eli? - disse o velhote, com voz trémula. - Prometes? Vai correr tudo bem?
- Prometo - confirmou Hebron. - Agora, acalme-se. Durma uma sestinha. O Julius e eu vamos discutir a situação e ver o que se
pode fazer.
Fez sinal ao tesoureiro. Dirigiram-se para a escuridão do canto mais distante do gabinete. Falaram em sussurros, com os olhos em Marcus Annenberg. A grande cabeça
dele descaiu lentamente, subiu de um salto, depois voltou a descer. A papada descansava sobre o peito. Uma mão mexia-se excitadamente. De vez em quando, ouviam gemidos.
- Qual é a gravidade da situação, Julius? - perguntou Hebron.
- Qual é a pior coisa que pode acontecer?
- O pior? Vamos partir do pressuposto de que não entram receitas nos próximos dois meses, e não conseguimos um empréstimo. Fechamos. É isso o pior.
- Dois meses? Julius, dois meses?
- Basta isso. E se esticarmos as nossas reservas. A não ser que queira começar a cancelar a produção e a despedir pessoas.
132
- Não. Nunca! Isso seria a coisa mais estúpida que se poderia fazer. Espalhavam-se as notícias de que nós estávamos em dificuldades, e os bancos cair-nos-iam em cima. Vamos continuar como estamos.
- Dois meses, Eli. É tudo o que temos.
- Não, Julius, temos três. Tenho o suficiente para nos manter em funcionamento durante mais um mês. Mais... se vender Paradiso.
- Faria isso, Eli?
- Se tiver de ser. Mas, primeiro, vais fazer isto... Chama o Levine e o Al Klinger. Faz-lhes um ultimato. Diz-lhes para pressionarem os distribuidores estrangeiros e os exibidores nacionais. Assusta-os. Depois, diz-lhes que precisamos de dinheiro. Diz-lhes para telefonarem, telegrafarem, para irem ver essa gente... o que for necessário. Apertar a sério com os exibidores. Se eles não corresponderem, deixamos de os fornecer. Que tentem dirigir um cinema sem filmes. Eles começam a pagar, vais ver.
- Podemos ter de assumir uma parte, Eli. Eles também estão de mãos atadas.
- Arranca-lhes tudo o que puderes. Aceita centavos! Mas diz ao Meyer e ao Al para serem duros. É agora que vemos quem são os nossos amigos... quando há pouco dinheiro. Õ Meyer e o Al devem dizer isso aos exibidores. Ou correspondem, ou não levam nada de nós. Despedimos os gerentes ou tomamos posse dos independentes. Ouve, os bancos não são os únicos que podem demonstrar a sua força. O nome da Magna ainda quer dizer alguma coisa; vamos usá-lo. Percebeste, Julius?
- Claro, Eli. Dir-lhes-ei exactamente o que me disseste.
- Óptimo. Exagera bastante. Outra coisa... Conheces alguém nos bancos locais... não um presidente nem nada do género, alguém mais abaixo... alguém que conheças bem e com quem possas falar? Para descobrir se se passa alguma coisa. Percebes? Não gosto nada disto. É como se estivessem todos a conspirar contra nós. Alguém que estivesse na disposição de falar contigo? O nome dele nunca seria mencionado, é claro. Seria seguro. E talvez um contributo para a obra de caridade favorita dele, se for isso que o faça falar. Compreendes?
- com certeza, Eli - disse Felder, pausadamente. - Talvez... não posso prometer nada com certeza, mas conheço alguns tipos desse género. Costumo jogar com eles à sexta-feira à noite. Um deles trabalha num banco que não tem acções nossas. Talvez saiba alguma coisa ou possa descobrir.
- Óptimo - disse Hebron. Pôs a mão no ombro do tesoureiro e apressou-o para a porta. - Faz o que puderes, Julius. Arranja esse
133
dinheiro, e vê se descobres por que é que, de repente, estamos a ser tratados desta maneira.
Depois de Felder sair, Eli Hebron voltou para o lado do tio. Marcus Annenberg estava a dormitar em espasmos, emitindo pequenos roncos, contracções repentinas, palavras murmuradas. O seu tronco pesado estava inclinado na cadeira de orelhas, a cabeça estava pendente, os membros relaxados. O supervisor abanou cuidadosamente o ombro dele.
- Tio Marc - murmurou. - Tempo de acordar, tio Marc... Annenberg acordou lentamente. Olhou para cima com olhos
ramelosos.
- Florence? - disse. - Hora de levantar?
- Não, tio Marc. Sou Eli. Estamos no seu escritório. É tempo de ir para casa.
- Tempo? Que horas são?
- É tarde - disse Hebron. - vou mandar vir o seu carro.
- Odeio ter de ir à casa de banho primeiro - disse Annenberg, de mau humor.
- Claro, tio Marc. Quer que o ajude?
- Eu consigo ir sozinho - protestou o velhote. - Não preciso de ajuda.
Hebron saiu para o escritório exterior. Disse à secretária de Annenberg para mandar vir o carro dele. Quando o director executivo saiu do lavabo, tinha a braguilha aberta e a ponta da camisa pendurada. Hebron abotoou-o, pôs-lhe a camisa para dentro, endireitou a gravata dele, alisou o seu casaco.
- Está bem, está bem! - disse Annenberg, amuado, afastando-o com as mãos. - Já chega!
O supervisor pegou no braço dele. Desceram devagar a escadaria exterior. Paravam um momento em cada patamar. A cara de Annenberg estava manchada. Olhava vagamente para o pátio, alvoroçado.
- Arranjaste uma rapariga para o Jazz Babies, Eli? Disseste?
- Perfeita para o papel, tio Marc. Igual à Clara Bow.
- Clara Bow! - disse Annenberg, indignado. - Clara Kimball Young. Era qualquer coisa. E Norma Talmadge. Mae Marsh. Marguerite Clark. May Allison. Nunca ouviste falar delas.
- Já ouvi falar delas, tio Marc.
- Shirley Mason - murmurou o velhote. - Mary Miles Minter.
O grande Pierce-Arrow preto estava à espera em frente ao edifício da administração. O motorista uniformizado estava a segurar a porta aberta.
- Entra - disse Annenberg a Eli Hebron.
- Tio Marc, tenho trabalho para fazer.
134
- Um minuto. Para conversar. Tu - disse para o motorista -, vai-te embora. Volta dentro de cinco minutos. Mais ou menos.
Entraram para o banco traseiro. Hebron bateu a porta. Aconchegou a manta em volta dos joelhos do tio.
- Eli, Eli - lamentou-se Annenberg -, por que é que me estás a fazer isto?
O supervisor, chocado, voltou-se para olhar para ele.
- A fazer o quê? - perguntou. - Que é que eu estou a fazer, tio Marc?
- O problema não é ela não ser judia - gritou o velhote. - Isso não é problema. Compreendes?
- Oh - disse Hebron. - Isso.
- Mas o que me estás a fazer. Ao estúdio. Uma rapariga que trabalha cá? Na tua casa? Eli, sabe-se em toda a cidade. Toda a gente anda a falar nisso.
- Deixe-os falar.
- O escândalo! - gemeu Annenberg. - Temos de ter tanto cuidado. Sabes o que as pessoas pensam. O que o resto do país pensa acerca de Hollywood. Ouvem falar disto e nós somos ordinários. Compreendes? Ordinários! Boston não nos vai dar o dinheiro. Talvez tenham ouvido falar. Não vão emprestar dinheiro a ordinários!
- Tio Marc, isso não...
- E se não for por mim e pela tia Fio... estás a magoar-nos... e se não for pelo negócio, que seja por ti. Um rapaz bom e devoto como tu. Um filho! Sim, um filho para mim e para a tua tia Fio! E vergonhoso. Eu podia compreender umas voltinhas por aí. Até uns fins-de-semana. Mas a viver na mesma casa? No quarto da tua falecida mulher. Deus tenha a sua alma em descanso. Perdeste o juízo, Eli? É isso? Estás fora de ti? Para fazeres o que estás a fazer deves estar. Porquê? Diz-me porquê? Estou a ouvir.
- Eu amo-a, tio Marc.
- Ama-la? - O velhote respirou ofegantemente, saltando para trás como se lhe tivessem batido na cara. - Ama-la? Gott zol uphieten!
Ficaram sentados em silêncio. A actividade do pátio continuava à volta deles. Um homem levava um bando ruidoso de patos em direcção ao estúdio exterior dois. Uma princesa chinesa era levada num palanquim. Um Stutz Bearcat vermelho era conduzido para os lotes das traseiras. Um batalhão de zouaves franceses marchava, carregando os seus mosquetes debaixo dos braços. O general Grant segurava um fósforo para Marco António. Um grupo de raparigas vestidas com fatos de banho de uma peça corriam às risadinhas para o estúdio interior um. O rádio na cabina da entrada proclamava Airít We Got Fun.
135
-Vais casar com ela, Eli-perguntou Marcus Annenberg, timidamente.
- Não sei.
- Talvez o devesses fazer, Eli - disse, em voz baixa. - Não fica bem. Estou cansado. Agora, vou para casa.
. Faça isso, tio Marc. Tenha uma boa noite de sono.
- Sono! - disse o homem, amargamente.
Charlie Royce estava sentado por detrás do volante do seu Chrysler Imperial, estacionado em frente à casa de Bea Winks. Pela terceira vez, tirou o seu Ingersoll de um dólar do bolso do relógio e olhou para ele na escuridão. Os atrasos da rapariga enfureciam-no. Faziam dele o suplicante.
Por fim, a luz da entrada acendeu-se. A porta abriu-se. Gladys Divine saiu lentamente, com um casaco branco de pólo pelos ombros, com as mangas a balançar livremente. Tinha um lenço de seda amarrado em volta do cabelo escuro, como se fosse uma fita. Caminhou desenvoltamente na direcção do carro de Royce, e parou para acender um cigarro. Podia ter sido uma cena de filme, ela movia-se de forma tão artística.
Ele debruçou-se para lhe abrir a porta. Ela entrou sem dizer uma palavra. Bateu a porta, encostou as costas contra ela. Estava o mais longe que podia de Charlie Royce. Ele via-a indistintamente na escuridão, mas sentia o seu aroma jovem e fresco. Cheirava a bebé, pensou. Por um momento, só um momento, sentiu inveja de Eli Hebron, odiou-o, desejou ser ele. A última coisa que sentiu chocou-o.
- Qual é o problema? - perguntou, rudemente. - A Bea diz que estás a causar problemas.
- Problema nenhum - disse ela, olhando para a frente, pelo pára-brisas. - Estou a viver com ele. Estou na casa dele. Era isso que queria, não era?
- Essa parte é verdade-reconheceu ele.-Aí não há problema. Agora, quero levar para lá a tua mãe e o teu irmão. com nomes falsos, é claro. Como cozinheira e mordomo.
- Para quê?
- Para te vigiarem - ele sorriu.
Nesse momento, ela voltou-se para olhar para ele.
- És uma merda! - disse. - Queres tê-lo na mão. Queres ser dono dele. Porque ele é muito melhor do que...
Ele inclinou-se para a frente casualmente e deu-lhe uma bofetada. Um golpe cruel e duro. A cabeça dela abanou.
- Não me chateies, miúda - disse, em voz dura. - Não me perguntes por que faço o que faço. Nem sequer penses nisso.
136
Ela não chorou, nem sequer esfregou cara.
- Eu mato-te! - disse.
- Não matas nada! - disse ele. - Achas que sou o único que estou metido nisto? Mata-me, e outro tomará o meu lugar. E outro. Não tens saída, miúda.
Ela ficou calada.
- Ouve - disse ele -, por que é que estamos a discutir? Podemos ser amigos. Eu trato-te bem no love, não trato? Bons papéis, muito tempo de filmagem. Os melhores ângulos. Viste aquela referência na coluna da Louella? A entrevista da História do Cinema? Estás lançada, Glad. Tudo o que sempre quiseste. Vais ser uma estrela. Toda a gente o diz. Vais ter o papel principal no meu próximo filme. Vamos começar a filmar na segunda-feira. Um grande argumento. Vais adorar. Acerca de roupas. Tu és a Mary. Que achas? Era isso mesmo que querias, verdade? Talvez uma grande estreia no Graumans. Queres deixar fugir isso tudo?
- Não gosto do que lhe estás a fazer - murmurou ela. - É sujo.
- Não te faças inocente comigo, queridinha - disse, friamente.
- Eu conheço-te bem. Venderias a alma para sair daquele buraco fétido com galinhas e bodes.
É ê uma atitude inteligente. Pensa em ti. Na tua carreira. Não precisas
do Hebron. Vais ser uma estrela sem ele. É isso que queres, não é? Queres ser uma estrela. Amada por milhões - tirou um charuto do bolso do casaco, mordeu a ponta.
Cuspiu os bocadinhos de tabaco pela janela aberta. Depois, acendeu o charuto com um fósforo de cozinha, de madeira. Rodou o charuto nos lábios. Expeliu o fumo para o ar com grande prazer. O carro escuro encheu-se de fumo. - Vê as coisas desta maneira - disse. Imagina que vais ter com Hebron e lhe dizes a tua idade verdadeira.
É o teu fim em relação a ele. Ficas fora da vida dele e fora do negócio. Mas isso não impediria a tua mãe de ir fazer escândalo para a Polícia. Tu és menor, Glad.
A tua mãe tem de te proteger. Por isso, destrói o Hebron. E tu acabas no chiqueiro da família com o cheiroso galinheiro atrás.
É isso que queres?
- Não - disse ela, tristemente.
- Portanto, não podes fazer mesmo nada, pois não?
- Posso matar-me! - disse, em voz baixa.
- Tu não - ele riu-se. - Nunca! Não és uma estrela... ainda. E se tu te cortares, arranjamos outra pessoa. É tão simples como isso. Portanto, faz o meu jogo. É um
negócio mau e duro, miúda.
- É o que ele disse.
-Ah, disse? Bem, dessa vez estava certo. Aceita enquanto podes, Glad. Procura o
N.º 1. É tudo o que tens a fazer. Dá-lhe uma desculpa qualquer para despedires a
cozinheira e o mordomo. Foram atrevidos contigo, não gostas deles, qualquer desculpa. Ele fará o que tu
137
quiseres; sabes isso. Depois, pomos lá a Bertha e o Leo. A tua carne e sangue. Não vai ser óptimo?
Ela não respondeu. Pareceu ter encolhido dentro do casaco. A cabeça estava metida dentro dele, os ombros descaídos, toda ela mostrava desespero.
Ele inclinou-se para a frente. Pousou uma mão levemente sobre a coxa dela. Agarrou a carne firme. Calor juvenil.
- Ouve, miúda - disse rudemente -, não há nada que ele te dê que eu não possa dar melhor. Que dizes se tu e eu, se fôssemos...
Mas ela saiu do carro com um gemido agudo, a correr. Pela estrada abaixo. com os saltos a fazer barulho. Ele deixou-a ir. Acabou o charuto antes de ir para a casa de Bea.
Em 1927, alguns homens ainda iam a cavalo para o trabalho nos Estúdios da Magna. Prendiam-nos no love de trás. De vez em quando, alugavam-nos ao dia, se Charlie
Royce estivesse a filmar urna cena do Oeste ou se fosse preciso cavalos para um torneio medieval ou uma cena de quinta.
Mas a maior parte dos empregados da Magna iam para o trabalho em carros próprios. Os que chegavam mais cedo encontravam lugar para estacionar no poeirento parque de estacionamento. Os que chegavam mais tarde estacionavam nos passeios à volta do complexo cercado e entravam a pé pelo portão. Havia uma garagem coberta por detrás do edifício da administração, mas estava reservada para o carros da administração. A maior parte deles era guiada por motoristas.
A garagem dos executivos era o fórum da Magna. com oito horas por dia ou mais sem nada para fazer, motoristas ociosos entabulavam debates contínuos sobre assuntos como Dampsey contra Tunney, a possibilidade de Babe Ruth conseguir novo recorde na corrida, a importância da sugestão do juiz Lindsay acerca da "coabitação", as actividades de Al Capone em Chicago, licitação contra declaração de vazas, o excitante caso de Daddy Browning, o julgamento Scopes, Red Grange, MahJongg contra xadrez, Floyd Collins, os sofrimentos de Andy Gump, Loeb e Leopold e de Roxy e o seu bando contra os rapazes da Felicidade.
Nesse dia, o assunto que estava em acalorada discussão era o julgamento e a condenação de Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Os dois anarquistas italianos tinham a execução marcada para Setembro. A sua culpa ou inocência era furiosamente debatida pelos motoristas, com punhos no ar, batidas de pés no chão e confrontações excitadas, nariz com nariz.
Barney OHara não tomava parte nesta discussão. Estava encostado ao guarda-lamas da limusina de Hebron, bastante divertido,
138
a chupar um fósforo. Timmy Ryan, de uniforme, entrou na garagem. Ouviu a gritaria durante alguns momentos e depois foi ter com OHara.
- Importas-te com o que acontece a um par de gringos? - sorriu.
- Nem por isso - disse O'Hara, num tom irritado. - Mas ajuda a passar o tempo. Ouvi-los falar!
- Que belos advogados que são - zombou Ryan. - Por acaso, não tens qualquer coisa para beber, tens?
- Não, Timmy.
- Alguma coisa no carro do Hebron?
- Nem uma gota - disse O'Hara. - Sammy não anda por aí?
- Se anda, não o encontro - disse Ryan. - E eu que tenho a boca seca.
- Tens de dar uma saltada ao bar do Jack Speak. - Barney OHara riu-se. - Ouvi dizer que és cliente habitual.
Timmy Ryan olhou para ele. Mostrava a dentadura.
- Oh? - disse, casualmente. - E quem é que te teria dito isso?
- Fig falou nisso - disse O'Hara com o mesmo tom casual. Disse que passavas lá duas ou três vezes por semana.
- Ah, bem - Ryan sorriu. - É um sítio agradável. Calmo. E Fig não põe água nas bebidas.
- com o Charlie Royce-disse Barney OHara. -Vocês os dois bebem lá?
- com o Charlie Royce? - gritou Ryan. - Que é que eu estaria a fazer a beber com gente do tipo dele? É demasiado rico para
mim. Um homem com a massa dele não iria beber na tasca ilegal do Newton.
- Foi o que pensei! - O'Hara assentiu. Alargou o colarinho rígido. - Mas Jack descreveu-o perfeitamente.
- Na - disse Timmy Ryan. - Deve tê-lo confundido com um amigo meu. Um detective na Esquadra Bunco da cidade. E um gajo grande e pesadão. De cara vermelha como o Royce. Já bebi umas com ele no bar do Newton. Deve ter sido o gajo que o Jack viu.
- Não me parece - disse OHara com indiferença. - Esse amigo teu da Esquadra Bunco... usa colete?
- Oh, claro - disse Ryan. - Sempre.
- Bem , então era esse mesmo - disse Barney OHara. - Até à vista, Timmy.
Afastou-se calmamente. Ryan ficou a olhar para ele. Depois dirigiu-se devagar para a barraca da entrada. Correu com Mac e usou o dictógrafo da barraca para ligar para o escritório de Charlie Royce. A secretária disse-lhe que o supervisor estava nos lotes traseiros a filmar
uma carruagem a virar-se. para um dos seus westerns.
Timmy Ryan apanhou boleia no camião do refeitório que levava
139
sanduíches, café e gasosas para as equipas dos lotes das traseiras. Demorou algum tempo a descobrir Royce.
Viu o supervisor e a sua equipa de produção aglomerados em volta de uma Conestoga, que tinha perdido uma roda. Um rapaz tinha desatrelado os seis cavalos e levava-os. Estavam vários homens a segurar o canto inclinado na parte de trás da carruagem, que estava apoiado num eixo. Não conseguiam subir a base a uma altura suficiente para voltarem a colocar a grande roda.
Ryan viu Charlie Royce enrolar o pesado casaco de tweed. Pô-lo como uma almofada sobre os ombros.
- Muito bem - ordenou aos homens -, vamos tentar novamente.
A equipa fez força para levantar a carruagem. Levantaram-na quase até ao nível. Depois, Royce baixou-se, mãos nos joelhos, pôs os ombros e as costas por debaixo. Fazia esgares enquanto fazia força para cima. As suas pernas dobradas tremiam. As veias do pescoço e da testa ficaram salientes. O canto inclinado da carruagem subiu lentamente. Dois homens puseram a roda às marteladas no eixo.
- Já está! - gritou um deles, exultante.
Os homens que estavam a segurar foram aliviando, deixando que a roda assumisse gradualmente o peso. Charlie Royce saiu de gatas lá de baixo. Endireitou-se, arqueou as costas, esticou a coluna e o pescoço. Depois, sacudiu o casaco de tweed. Voltou a vesti-lo, endireitou a gravata, sacudiu o pó das bainhas das calças.
- Façam um intervalo - gritou para a sua equipa. - Dez minutos.
Viu Timmy Ryan ali parado. Fez sinal com a cabeça. Ryan seguiu-o para a sombra de uma magnífica árvore.
- Foi bonito, muito bonito, Sr. Royce - disse Ryan, com admiração. - Não queria estar na sua pele se os tipos deixassem cair a carruagem.
Royce encolheu os ombros.
- Que é que te traz aos ermos, Timmy? Querias ver-me? Ryan contou-lhe a conversa que tivera com Barney OHara.
Charlie Royce ouviu atentamente. A sua expressão não mudou. Quando o chefe terminou, o supervisor começou a andar para cima e para baixo, com as mãos nos bolsos, a olhar para a terra batida.
- Foi isso? - perguntou, por fim.
- Foi isso.
- Achas que ele caiu na tua história?
- Não - disse Ryan. - Ele tinha o seu retrato completo, Sr. Royce... colete e tudo.
- Merda! - Charlie Royce suspirou. - Má sorte. Mas quem é que
140
iria pensar que o dono do bar se iria lembrar de nós? Achas que o OHara vai contar a Hebron?
- Pode ser que sim - disse Timmy Ryan. - E ele pode começar a meter o nariz.
- Sim - confirmou Royce -, pois pode. Não posso correr esse risco, Timmy. Não, neste momento. Isto já está muito lançado. Achas que o consegues comprar?
- Posso tentar.
- Então, tenta.
- E se ele não aceitar?
- Faz o que entenderes. Não quero saber nada disso.
- Vai custar caro.
- Não há problema - disse Charlie Royce.
- Dá-me um beijinho - cantou Eli Hebron -, dás, hum?
- Simm - disse prontamente Glady Divine, e beijou-o.
- Chamas a isso um beijo? - troçou. - Não vale um caracol. Bosco costumava dar-me beijos melhores.
- Assim? - perguntou ela, e começou a acariciar a boca dele, nariz, olhos, cara, orelhas...
- Glad - ele riu-se e afastou-a. - Está bem, está bem. Lamento, peço desculpa. Es uma grande beijadora.
- E não só isso? - disse ela atentamente, a olhar para ele numa das suas bruscas mudanças de humor,
- Não é tudo - concordou ele.
- A sério? - murmurou ela, ansiosa. - A sério e verdade? Sou uma boa amante, Eli? Faço tudo o que queres que faça?
-Tudo - confirmou ele, assustado com o fervor dela.-És muito mulher.
- Sim, pois sou - disse ela, ferozmente. - Uma mulher. Eu sou uma mulher. - Apertou a mão dele com força. - Muito mulher repetiu.
Estavam na entrada, esperando impacientemente que Leo trouxesse o carro. Ele era péssimo mordomo, tal como Bertha era uma governanta-cozinheira desastrosa. Ambos desleixados e descarados.
Hebron tinha despedido Robert e a Sr.- Birkin a pedido de Glad. Robert, tinha dito ela, era hipócrita. A Sr.a Birkin era uma ditadora. Para tomar os lugares deles ela descobrira Bertha e Leo. Hebron sentia-se repugnado com a inépcia do mordomo, revoltado com os cozinhados da governanta. Mas se fazia Glad feliz...
Leo trouxe, por fim, o automóvel Packard da garagem. Parou abruptamente com uma rajada de gravilha no ar. Saiu a sorrir e a sacudir madeixas compridas de cabelo louro da testa.
141
- Aqui está o calhambeque, Eli - disse.
- É Sr. Hebron - disse Glad, zangada. - Não te esqueças disso.
- Claro - Leo fez um sorriso insolente. - Não me vou esquecer. Vocês os dois divirtam-se.
Glad tinha aprendido a conduzir. Sentou-se atrás do volante. Hebron deu a volta para o lado do passageiro. Mal tinha fechado a porta quando ela arrancou com um salto que atirou a sua cabeça para trás.
- Vai com calma - disse ele, indulgentemente.
- Não o suporto - gritou ela, furiosa. Ele não disse nada.
- Bem - disse, por fim, num mumúrio -, ele precisa do emprego.
- Imagino.
- És tão amoroso - disse ela. - Deixares ele e a Bertha continuarem. São horríveis, não são?
- Sim - disse ele.
- Não vamos falar deles - disse ela, firmemente. - Vamos falar de nós. Estás zangado, Eli?
- Não muito. Porquê?
- Vamos passear pela costa. Podemos, Eli? Por favor?
- Claro, Glad. O que quiseres. Conheço um sítio agradável em Ventura. Podíamos ir jantar lá.
- É luxuoso? - perguntou ela, ansiosamente. - Estou bem vestida para ir lá?
- Estás linda! - assegurou-lhe ele.
- Obrigada - disse ela, em voz fraca.
Ele estava satisfeito por ela ir a guiar. Sentou-se no canto, voltado para a poder ver. Ela manejava o carro habilidosamente, sem qualquer dificuldade em carregar na embraiagem e mudar de mudança, coisas que ele achava tão difícil.
- Ainda não tens carta de condução, pois não? - perguntou.
- Tenho andado tão ocupada. Sabes disso. Mas vou tratar disso, Eli. Talvez na próxima semana.
- É melhor - avisou ele. - Se nos mandarem parar, vamos os dois parar à cadeia.
- Desde que vamos juntos - ela soltou uma risadinha. Chega-te para ao pé de mim, Eli.
Ele escorregou no banco.
- Mais perto - ordenou ela. - Mesmo encostado. Ele assim fez. Depois disse:
- Mantenha as duas mãos no volante, Menina Divine.
A estalagem era a sul de Ventura. Era um restaurante italiano, construído entre a estrada e o mar. Não tinha anúncios; apenas uma
142
entrada bem iluminada. Mas a zona de estacionamento estava quase cheia. Tomaram ambos um bebida da garrafinha de prata de Hebron antes de saírem do carro.
O chefe de mesa conhecia Hebron; foram levados para uma mesa no terraço envidraçado com vista para o mar. Depois de uma conversa murmurada, um empregado de bigode trouxe-lhes chávenas de chá e pires. Toda a gente no restaurante lotado parecia estar a beber chá.
Levaram as chávenas num brinde aos dois. O uísque de centeio puro era forte. Gladys ofegou e tossiu. Hebron acrescentou um pouco de água na chávena dela.
- Bebe devagar, não bebas golos grandes - avisou ele. - Vejamos... com o que é que vamos começar?
- Tu pedes, Eli. Eu gosto sempre do que pedes.
- Tu gostas de toda a comida - ele sorriu. - Nunca conheci uma mulher com o teu apetite. É um prazer observar-te.
- Não como demasiado, pois não, Eli? Não estou a ficar gorda, pois não?
- Claro que não.
- Óptimo - disse ela, feliz. - E esta noite vou usar os garfos e colheres correctas. Vais ver. Começo de fora para dentro... certo?
- Certo - ele riu-se. - Não usavas garfos de salada em Nova Jérsia?
- Oh - disse ela, despreocupadamente, voltando a cabeça para observar os outros clientes -, às vezes, acho.
Esta noite usava um vestido que o estúdio lhe emprestara. Tinha sido desenhado para Margaret Gay e usado em Broken Hearts. Era um vestido solto e enfeitado com contas compridas prateadas, sem mangas, suspenso em alças finas. Usava uma faixa do mesmo material na cabeça, com um penacho branco e escarpins de tiras prateadas atados com laços prateados. Tinha pulseiras de serpentes em volta dos bícepes, nos dois braços.
Hebron pensou que era a mulher mais excitante da sala. Todos os olhares de admiração que ela atraía pareciam um cumprimento tanto para ela como para ele. Ela apercebia-se do interesse, ele sabia. Já tinha aprendido o comportamento de uma actriz de cinema em público - gestos um pouco mais abertos, gargalhada ligeiramente mais alta, expressões mais elaboradas: sorrisos abertos, deliciosos amuos, um menear sinuoso do peito e das ancas. Ele já tinha visto Grace Darling fazer a mesma coisa. Não se ressentia com isso. Elas eram actrizes: a adulação era o espelho delas.
- Por que é que estás a olhar para mim assim? - disse ela. Pareces tão triste.
O empregado começou a servir os moluscos cozidos e Hebron não
143
respondeu. Mas ela continuou a olhar para ele. Ele vestia um smoking preto de cintura marcada com um colarinho de pontas levantadas e botões de punho de ónix preto. Ela viu-o como um esbelto pássaro preto com peito branco e olhos brilhantes, e achou-o o homem mais excitante da sala. Baixou o olhar para as suas mãos compridas e graciosas e fechou os olhos por um momento, a recordar...
Falaram poucas vezes durante o jantar; Hebron tinha aprendido que ela preferia devotar toda a sua atenção à comida. Ele olhava, fascinado, enquanto ela progredia industriosamente pelos moluscos cozidos, salada, massa, bifes em molho de tomate com alho, zucchini francês frito. Não conseguiu acabar o seu bife; ela acabou-o por ele. Mas ele despejou as duas garrafas de coca-cola de vinho tinto caseiro que lhes tinham servido, com os cumprimentos da gerência.
- Gelado - pediu ela. - Gelado de chocolate com natas batidas.
- E uma cereja em cima?
- Está bem - disse ela, acanhada. - Se insistes.
Ele riu-se e pediu o gelado. Tomaram café os dois. Ele desejava um brande, mas contentou-se com mais uma chávena de uísque forte.
- Satisfeita? - perguntou-lhe ele. - Finalmente?
Ela suspirou, assentiu, limpou os lábios delicadamente com um guardanapo, exactamente como tinha visto Pauline Frederick fazer em La Tosca.
- Oh, estava tudo tão bom - disse. - A melhor comida que já experimentei.
- Dizes sempre isso, Glad. Qualquer pessoa pensaria que passaste fome em criança.
- Posso fumar um cigarro, Eli?
Ela tinha começado a usar uma comprida boquilha de marfim, mas ele até isso conseguia perdoar. Acendeu um fósforo. Viu-a manipular a boquilha artisticamente, sentada muito direita com a sua faixa brilhante e penacho, a olhar em volta tão altiva como uma marquesa.
- Glad - disse ele, abanando a cabeça -, és mesmo divina! Ela percebeu a zombaria dele e perdeu a pose, a rir.
- Não te importas, Eli... da boquilha?
- Claro que não me importo. Tudo o que fazes é um prazer. Es a melhor coisa que já me aconteceu.
A cara dela empalideceu.
- Não... - começou ela a dizer, mas nesse momento um casal jovem apareceu ao lado da mesa deles. Gladys e Eli olharam para cima, surpresos.
144
- Peço desculpa, senhor - disse o jovem. - Odeio interrompê-los, mas a minha mulher estava curiosa para saber se...
- A senhora é a Gladys Divine? - disse a mulher repentinamente.
- Odeio perguntar. Por favor, desculpe. É?
- Sim. - Gladys sorriu. - Eu sou Gladys Divine.
- Eu sabia! - gritou a mulher, em êxtase. - Eu tinha a certeza! Não te disse, Harry? Vi-a no Spring Roundup, Menina Divine, e achei-a simplesmente maravilhosa!
- Obrigada. Muito obrigada.
- Importa-se de me dar o seu autógrafo? Por favor, Menina Divine?
- Claro.
Mas não havia onde escrever nem nada com que escrever. Hebron fez sinal a um empregado. Trouxeram papel e lápis.
- Como é que se chama?
- Florence Kyle, Menina Divine.
- vou escrever: para Florence, com muito carinho e agradecimentos, Gladys Divine. Que acha?
- Oh, muito obrigada, Menina Divine, obrigada! É tão importante para mim.
O alvoroço à volta da mesa de Hebron atraiu as atenções. Em poucos minutos tinha-se juntado um pequeno grupo de gente. Canetas e lápis, e papel, punhos, guardanapos, e cartões de visita foram lançados a Gladys.
-- Por favor, Menina Divine. Uma coisa pessoal.
- O meu nome é Marvin, Menina Divine.
- Por favor, assine aqui, Menina Divine.
- Pode dedicá-lo a Nicky, Menina Divine?
Um homem de cabelo ruivo e olhar furioso, a segurar papel e caneta, puxou a manga de Eli Hebron.
- Você é alguém? - perguntou.
- Não - ele sorriu. - Não sou ninguém. Gladys dançou até ao carro, a gritar de satisfação.
- A primeira vez! - gritou. - Eli, a primeira vez!
- Não a última - garantiu-lhe ele.
- Fiz bem, Eli? Fui, sabes, simpática para eles e não emproada?
- Trataste disto muito bem. Muito bem.
- Oh, estou tão feliz! Tão feliz!
Voltou a dar gargalhadas, pôs os braços à volta dele, beijou-o, bebeu avidamente da garrafa. Depois sossegou. Acalmou. Pegou na mão dele, beijou as pontas dos dedos, uma por uma.
- Querido - disse ela, em voz rouca -, obrigada, obrigada, obrigada.
145
Foste tu que fizeste isto sozinha. Não me deves nada. - Devo, devo!
- Não - ele abanou a cabeça. - Eu é que te devo. Já te disse, és a melhor coisa que já me aconteceu.
Gla começou a chorar, a abanar a cabeça devagar de um lado para olltro. Ele tentou confortá-la, mas ela não acalmava. Nem lhe dizia o que é que estava a chorar.
por fim, ela fungou, limpou os olhos com as costas da mão. Tirou a faixa da cabeça e o penacho, atirou-a para trás do banco.
- Podemos baixar a capota, Eli?
- Não vai ficar demasiado frio?
- Não.
Baixaram o tecto de lona, enrolaram-no atrás, puseram a cobertura. Esvaziaram a garrafa antes de voltarem para trás.
- Queres que eu guie? - perguntou ele.
- Não.
O carro ganhou velocidade na estrada sem iluminação. Postes de telefones apareciam de repente. Alcançavam carros, aceleravam, passavam por eles com grandes buzinadelas, Os carros que vinham em direcção contrária silvavam ao passar por eles. A estrada passava rapidamente debaixo das rodas. O vento açoitava-os, vergastava os seus cabelos. A escuridão impelia-os, mais depressa, mais depressa. Ele voltou-se para olhar para ela. Olhos muito abertos, dentes brancos a brilhar, cabeça atirada para a frente. O corpo tenso ao volante, no motor trovejante. Ela gritou uma vez, mas as palavras perderam-se. Ele riu-se. Ela ouviu-o e riu-se. Riram-se os dois, riram-se juntos, aos berros, acelerando pela noite para lado nenhum, enfrentando a escuridão, mais e mais, nenhum deles querendo píirar, nunca, mas antes andar mais depressa, mais depressa, deixando tudo para trás, fugir, juntos, para o meio da escuridão...
Subiram lentamente o caminho de gravilha até à porta de Paradiso. Estavam calados, esgotados. Por momentos, tinham andado à deriva em liberdade. Mas a noite chegara, inteira, e o presente puxara-os à terra. De mãos dadas, subiram a escadaria larga até ao quarto espelhado. A calma caiu sobre eles. O quarto fechado era tão definitivo como uma cela.
Luar fraco passava pelas janelas com cortinas. O quarto prateado palpitava com fantasmas. Aparições resplandecentes e fantasmas brilhantes olhavamum para o outro e tocavam os lábios frios.
Ele afastou-se, até à vitrola, perto da cama. Deu-lhe corda devagar, com o mecanismo a estalar. Pôs um disco novo do Louis Armstrong. Voltou para a pôr nos seus braços. Gravemente, começaram a dançar, a flutuar numfoxtrot suave.
146
- Um destes dias - cantou ela suavemente -, vais ter saudades minhas, querido.
Em volta e em volta continuaram, reflexões nebulosas a rodar pelas paredes. Depois, o quarto girou à volta deles. Os espelhos tremeluziram até a música acabar, a agulha arranhar e a máquina parar. Ainda dançavam na obscuridade, movendo-se com passos pequenos, olhos ardentes fixos. Abraçavam-se com as mãos abertas e prementes.
Ela virou-se de costas para ele. Ele observou-a, triste, a desapertar o vestido e a sair de dentro dele. Deixou-o no tapete, um monte brilhante. Tirou o espartilho sem armações e deixou-o cair. Atirou-se para um cadeirão, pôs a cabeça para trás. Levantou os joelhos envoltos pelas meias, pôs os calcanhares na ponta da cadeira. Estendeu os braços brancos para ele. Os olhos de pedra das serpentes das pulseiras dela piscaram.
Ele caiu de joelhos à frente dela. Ela puxou-o para mais perto. Ele debruçou-se para ela, com a cabeça inclinada. Ó pássaro esbelto a alimentar-se.
A certa altura, a meio da noite, ele acordou, e ela tinha saído da cama. Viu-a de pé junto das janelas. A princípio, pensou que ela se tinha vestido novamente-. Mas depois, com olhos turvados pelo sono, viu que a carne nua dela brilhava com o luar. Ela estava de pé, imóvel, e ele quis chamá-la. Mas ela voltou-se, voltou para a cama.
- Glad? - disse ele, ensonado.
Ela chegou-se para mais perto dele, abraçou-o com os seus jovens braços. Ele voltou a adormecer, com um mamilo macio a fazer uma pressão suave nos seus lábios.
Quando acordou tarde na manhã seguinte, um domingo, a luz do sol entrava pelo quarto. Estava novamente sozinho. Levantou-se e , foi até à janela, nu. Pôs-se onde ela tinha estado na noite anterior. Afastou as cortinas e olhou para baixo.
Conseguia ver uma ponta da piscina, um canto da garagem. Mas exactamente por baixo estava a rampa de relvado que Taki tinha tentado transformar num jardim japonês. Pobre Taki. Tinha aguentado dois dias de Bertha e Leo. Depois, com desculpas sibiladas e muitas inclinações de cabeça, tinha argumentado com a pressão para trabalhar noutro sítio e desaparecera de Paradiso.
A casa e os jardins já mostravam sinais de negligência: relvado por aparar, gravilha por revolver, matagal por podar, o terraço e a piscina cobertos de ramos e folhas caídas. Hebron pensou se a sua casa não teria ficado infectada pela sua própria confusão. Será que a mansão e os jardins podiam sofrer de desorientação, solidão, perda ou determinação?
Enquanto olhava para baixo, com tristeza, viu Gladys Divine sair
147
apressadamente pelo terraço. Caminhou pelo declive relvado abaixo em direcção ao matagal que marcava o limite traseiro da propriedade de Hebron. A relva estava alta; cobria os sapatos dela. Ela tinha uma vara na mão e balançava-a despreocupadamente para as cabeças de leão douradas que espreitavam por cima da relva.
Estava vestida para uma festa de jardim; um vestido de chiffon florido com saia armada e mangas compridas. E usava um chapéu de palha de abas largas que protegia a sua cara do sol. O chapéu estava preso com um lenço comprido de seda branca.
Viu-a começar a correr. Não sabia por nenhum motivo que não fosse o sol brilhar, o céu estar azul, estar um dia glorioso e ela ser nova. Correu pelo relvado, com os braços abertos. Saia, mangas, lenço, tudo a navegar atrás dela.
O vidro da janela enquadrava-a como um ecrã de cinema. Moveu-se ligeiramente para manter a figura dela a correr, dentro do quadro. Desejou filmar uma cena assim:
uma mulher nova e viva a flutuar por um relvado. E a correr atrás dela, alcançando-a, tentando apanhá-la, um homem de branco. As duas figuras gravadas contra o céu
azul. Ambos vibrantes à luz do sol. Tudo ali: beleza, mistério, uma sugestão de infinita e condenada perseguição. Uma imagem significativa.
Voltou-se para longe do sonho. Foi para a casa de banho, barbeou-se, tomou banho, vestiu-se cuidadosamente: fato de flanela branca, camisa branca e lenço, sapatos brancos. Depois desceu, encontrou Glad, e pediu-lhe para casar com ele.
Ed Jenkins estava a ler o primeiro rascunho do argumento de O Amante de Sonho. Ocasionalmente, de forma mecânica, a sua mão erguia-se, dava um golo no copo de gim sem levantar os olhos da página. Tina Rambaugh, atrás da sua secretária, estava a olhar para ele. Por fim, Jenkins voltou a última página.
- Então? - perguntou, ansiosamente, a jovem. - Que é que achas?
Ele não respondeu. Voltou a encher o copo com gim. Tirou o pedaço de gelo envolto em serapilheira de debaixo da sua secretária e começou a picá-lo com um picador de gelo.
- Acho que vai funcionar - disse Tina. - A cena da vampe é uma bomba.
Jenkins empurrou pedaços de gelo para a bebida. Beberricou, depois rolou os olhos e sacudiu a cabeça numa imitação de Willie Howard a fazer de bêbado.
- Vá lá, Ed - disse a rapariga. - Que é que achas?
- É filosófico - disse ele.
148
- O argumento?
- Não, gorda, não é o argumento. É bom. Vai funcionar bem. As minhas objecções são filosóficas. É muito profundo.
Ela suspirou, pôs os pés em cima da secretária. As solas dos sapatos ficaram voltadas para ele.
- Oh - disse ele -, hoje estás de cuecas. E cor-de-rosa! Muito sexy.
- Vamos lá ouvir as tuas profundas objecções filosóficas.
- É toda a ideia do filme. Não tenho a certeza se Hebron sabe o que está a fazer. com efeito, ele está a dizer que os sonhos e a fantasia são uma perda de tempo.
Que deveríamos todos conformar-nos, enfrentar a realidade e encontrar a felicidade! Certo?
- Bem - disse ela cautelosamente -, mais ou menos.
- Acreditas nisso, Tina? - perguntou ele com ardor.
- Até certo ponto. Podes viver toda a tua vida a sonhar. Mark Twain disse que toda a vida é um sonho.
- Ele estava a tentar ser engraçado.
- Não estava nada; estava a falar a sério. Mas isso não tem importância. Ed, o filme não é contra os filmes. Na verdade, mostra que as fantasias do herói são a única forma que tem de aguentar a realidade. São como o álcool e os rebuçados para o nariz. Compensam a sua existência monótona e sem significado. Todos os seus sonhos são maravilhosamente bem sucedidos. Ele ganha um duelo; salva uma donzela; domina animais selvagens. Agora, vê isto... É só quando ele tenta passar um deles para
a realidade... a cena do grande amante... que falha.
- Exactamente onde eu queria chegar. Seguindo esse raciocínio, Colombo nunca teria posto um pé a bordo. Percebes?
- Oh, estou a ver - disse ela. - Mas os sonhos de Colombo não eram uma fantasia; era uma esperança baseada em todas as provas científicas disponíveis na altura. Em O Amante de Sonho, os sonhos do herói são completamente lunáticos. Não têm qualquer lógica. Os sonhos da maior parte das pessoas são assim.
- São? - disse ele, langorosamente. - com que é que tu sonhas, amor?
- Não é da tua conta - disse ela. - Estou só a dizer que há uma diferença entre sonhos como esperanças e sonhos como fantasias. As esperanças têm hipótese de realização.
As fantasias estão condenadas.
- Porquê?
- Porque - disse ela, exasperada - o mundo não é assim. Não tem tempo para alucinações.
- Está bem, vamos supor que estás certa... apenas supor... é isto
149
e devemos dizer aos clientes: que os sonhos deles são um balde de merda?
- Gosto da maneira profunda e filosófica que tens de pôr as
coisas, querido.
Vê Eli Hebron, o nosso estimado chefe - disse Jenkins mal
humorado. - Qual era o sonho dele? Baseado em esperança, não em ilusão. Encontrar uma saloia bonita e jovem, cortejá-la e conquistá-la, casar com ela, assentar e viver feliz para sempre. E que acontece? Encontra-a e corteja-a. Depois atira a pergunta e ela recusa redondamente. Fim de sonho.
Tina Rambaugh pôs os pés para baixo com estrondo. Inclinou-se sobre a secretária, a olhar para ele.
- Ed, como raio é que tu sabes isso?
- Eu digo-te exactamente como é que sei. Hebron teve uma discussão aos gritos com o velho Annenberg no escritório do velho. Foi em vozes tão altas que a secretária do Annenberg, a Sue Marsh, ouviu tudo. É o que ela diz. Provavelmente, ela estava à escuta perto da porta. De qualquer forma, ela ouviu Hebron dizer que tinha pedido a Gladys Divine para casar com ele e ela recusou. Então, Annenberg disse-lhe para correr com a Divine da casa dele ou o escândalo arruinaria o estúdio. Hebron disse que não fazia isso, que amava a rapariga, que precisava dela, e que ela podia ficar enquanto quisesse.
- E como é que descobriste isto?
- Simples. À Sue Marsh disse à Betty Novack. A Betty é a secretária do Al Klinger. A Betty também está a viver com o Fred Driscoll! Ele é um dos carpinteiros do Eddie Durant. O Fred e eu partilhamos umjarro de cerveja preta de vez em quando. Portanto, a Sue Marsh disse à Betty Novack, que disse ao Fred Driscoll, que me disse a mim.
- E por que é que a Divine recusou Hebron?
- Segundo o que ouvi... ou o que Sue Marsh ouviu... ela disse que tinha medo que o casamento lhe prejudicasse a carreira. Ela está no princípio, e a começar a atrair admiradores. Hank Cushing já anda a falar em iniciar um clube de fãs aqui em LA. Divine pensa que prender-se agora não a ajudaria. Primeiro, quer um pouco de vida agitada. Sabes como é: montes de namorados, festas loucas, viajar para sítios exóticos. Para dar aos seus fãs algo com que sonhar. Não quer tornar-se dona de casa como toda a gente. Neste momento, não quer. Provavelmente, tem razão. Mas o que eu quero dizer é que aqui está o sonho de Hebron... não uma fantasia louca, mas um sonho auspicioso... transformado em pó, como diriam os poetas. É isso que queremos mostrar aos clientes com O Amante de Sonho ? Que as suas esperanças estão condenadas? É um filme pessimista, miúda. Não acho que o público goste.
150
- Só estás a dizer isso porque o Hebron se deu mal com a Gladys.
- Na! - abanou a cabeça, melancólico. - Estou a dizer isso porque é a verdade. Vamos encarar as coisas: todos os sonhos são tretas. Andamos apenas a enganar-nos.
Mas não acho que esta verdade específica seja comercial. Não acho que devamos esfregar os narizes dos nossos clientes nela. Eles não nos querem para isso. E não vão gostar do filme.
- Qual é o mal de assentar com mulher e filhos?
- Nenhum... se não sonhaste com algo melhor.
- Jesus Cristo, Ed! - explodiu ela. - És um velho cínico e amargurado!
- Não, não sou nada. Só sou realista.
Ela aproximou-se por detrás da secretária. Sentou-se no colo dele, pôs o braço roliço em volta do seu pescoço.
- E se o patrão entra? - disse ele.
- Dizemos-lhe que estamos a fazer pesquisa para uma cena de amor. Quando raio é que me vais apresentar a um destino melhor do que a morte?
Ele olhou para ela especulativamente, com os olhos azuis semicerrados.
- Em breve - disse, agarrando a cintura grossa dela.
Os olhos dele abriram-se mais. Ela correu os dedos grossos pelo cabelo cor de areia dele. Sorriu nervosamente.
- Está combinado - disse ela, com um tremor na voz. - Não vais voltar atrás?
- Eu não.
- Não disseste que não te interessavas por mulheres novas e inexperientes?
- Já ouviste falar do quarentão que se apaixonou por uma miúda de dez anos? Casou com ela, apesar de ser quatro vezes mais velho do que ela. Mas cinco anos depois, ela tinha quinze e ele quarenta e cinco, e era apenas três vezes mais velho do que ela. E quinze anos mais tarde ela tinha trinta e ele sessenta, e só tinha o dobro da idade dela. Ora, a questão é a seguinte: Quanto tempo é que têm de estar casados até terem a mesma idade?
- Tu és tonto, sabes disso, Ed?
- Sei.
- Acerca de nós... não estavas a brincar?
- Não estava a brincar.
- Consegui finalmente apanhar-te, hem?
- Na - disse ele, cruelmente. - Só quero arrasar o teu sonho.
- Seu estúpido! - gritou ela.
151
Charlie Royce não tinha sido convidado para a festa. Tinha sido iniciativa da rapariga, tinha a certeza, não do Hebron. Teria gostado de ver o interior da mansão de Hebron. Teria sido um prazer observar os dois, estando por dentro de tudo. Mas calculou que a sua presença tivesse estragado a noite de Glad. Era compreensível. Mesmo assim, a sua exclusão ressentia-o.
Podia ter saído a pé do seu bangaló do hotel, mas os peões não eram bem-vindos em Beverly Hills. Portanto, deu umas voltas de carro, a pensar passar e ver a casa de Hebron a caminho de casa. Por que motivo?, não saberia dizer.
Conduzir à noite dava-lhe oportunidade de pensar nas coisas e planear o que tinha de ser feito. Arapariga tinha tratado da proposta de casamento de Hebron de forma inteligente, tinha de admitir isso. A desculpa para a recusa era lógica e sensata. Como supervisor de cinema, Hebron apreciaria o que a rapariga pensava e aceitaria. Isso não estava a preocupar Charlie Royce.
O que o preocupava era o rumor que tinha ouvido de uma violenta discussão entre Hebron e Annenberg. Se a informação de Royce estivesse correcta, o velhote tinha dito a Hebron para correr com a rapariga de sua casa e Hebron recusara. Se ambos continuassem inflexíveis, a única alternativa de Annenberg seria despedir o supervisor. Isso poderia agradar a Archer, Sturdevant e ao bando deles. Não agradaria a Charlie Royce. Não queria o Eli Hebron simplesmente despedido; queria-o humilhado, publicamente ridicularizado, arruinado. Royce não perdia tempo a ponderar os seus motivos; não era um homem introspectivo.
Já passava da meia-noite quando conduziu o carro lentamente, monte acima, até Paradiso. O caminho coberto de gravilha que conduzia à casa estava cheio de carros. E estavam mais carros estacionados nas beiras da estrada de acesso pavimentada. Charlie Royce levou o carro até à entrada, mesmo à frente de um Rolls-Royce branco. Desligou as luzes e o motor. Chegou um fósforo ao charuto, deu baforadas profundas, recostou-se no banco. Conseguia ver a mansão perfeitamente.
Estava esplendorosa com as luzes. Viam-se convidados com fatos de noite no alpendre, no terraço, a passear pelos relvados, a entrar e a sair pelas portas envidraçadas. Os empregados contratados circulavam com tabuleiros de prata com bebidas. Tinha sido posto um buffet em volta de uma das pontas da piscina. Algumas pessoas estavam até a nadar, a gritar e a chapinhar, embora a noite estivesse fria.
Uma banda de cinco elementos estava a tocar na entrada de
mármore: Valência. Do-Do-Do, ill Could Be with You One Hour
.Tonight, Blue Skies!, Girl ofMy Dreams, Let a Smile Be Your Um-
152
brella... Estava uma cantora, uma mulher negra de voz profunda. "Cara de bebé", cantava ela, "tens a mais bela cara de bebezinho." Charlie Royce ouvia tudo. Viu casais a dançar. Foxtrot, charleston, tango. Toda a gente estava a rir. Toda a gente se estava a divertir.
Carros saíam; mais carros chegavam. Viam-se casais no meio da rua a beber de garr afinhas. Casais corriam para as matas de árvores. Casais esgueiravam-se para bancos de trás de carros - qualquer carro. Quase contra vontade, Charlie Royce deu por si a sorrir com toda esta folia embriagada, a bater o pé ao som da música, tornando-se parte do prazer e da alegria.
Tinha quase terminado o seu charuto quando a felicidade desta casa divertida e iluminada lhe deu a ideia de como poderia destruir Eli Hebron. Atirou a ponta do charuto para os arbustos, ligou o motor e conduziu devagar para o seu bangaló do hotel, escuro e silencioso.
Não por muito tempo, prometeu a si mesmo.
Iggy Vaccaro e Hymie Pequena Lou Elman tinham sido cobradores de Dion OBanion, em Chicago. Quando o chefe deles foi eliminado - no meio das suas gardénias e rosas Beleza Americana -, Iggy e Himie acharam melhor procurar climas mais saudáveis. Apanharam o comboio para oeste e estabeleceram-se em Los Angeles. Era o género de cidade de que gostavam: polícias compreensivos e louraças de pernas compridas com fartura.
Foi fácil arranjar emprego. Trabalhavam como fura-greves, cobradores para agiotas, guarda-costas de jogadores profissionais, seguranças de manda-chuvas - tudo o que exigisse músculos e vontade de os usar. Viviam os dois num hotel em Figueroa e tinham passado por muita coisa juntos.
A meia-noite, Iggy e Himie estavam pacientemente à espera num beco não muito distante do seu hotel. Iggy usava um fato de riscas finas, de um botão e cintura marcada, com lapelas largas. O laço pequeno era de pele preta. O fato de xadrez de Hymie era traçado, mas igualmente apertado. Não usava gravata, mas o colarinho engomado estava fechado com um botão de ouro. Os dois homens usavam boinas de tweed com botões, com as palas puxadas sobre o olho direito. Estilo Chicago.
Um Nash preto parou à entrada do beco. A porta de trás foi aberta por dentro. Iggy e Himie caminharam até lá, entraram, bateram a porta.
- Boa noite, rapazes - disse Timmy Ryan com um sorriso radioso. - Então, que maldades é que os meninos têm andado a fazer?
- Oh... umas coisinhas - disse Iggy.
- Vamos andando - disse Hymie. - E tu, Timmy?
153
- Não tenho queixas - disse Ryan. - Bem... tenho algumas, mas quem é que se interessa? - Riu com prazer. - Fico feliz por vocês me poderem ajudar nesta.
- Que é que se passa, Timmy? - perguntou Vaccaro.
- Bem, é uma espécie de discussão de negócios, poder-se-ia dizer. Vou-me encontrar com uma certa pessoa no bar do Jack Newton. vou entrar sozinho. Vocês esperam lá fora, no canto mais afastado do parque de estacionamento. É a noite de folga do Fig... certifiquei-me disso... e duvido que alguns dos empregados me reconheça. Mas isso não é importante. vou sugerir uma proposta de negócio a esta determinada pessoa e se ele aceitar eu dou uma saltada cá fora e trago-vos de novo para aqui, e serão cinquenta parrecos pelo vosso tempo e pela maçada. Que é que acham?
- Cinquenta para os dois? - perguntou Elman.
- Isso mesmo - disse Ryan. - Dinheiro à vista.
- Não parece mal - disse Vaccaro, compassadamente.-Então, e se essa tal pessoa não vai na tua proposta?
- Ah - disse Timmy Ryan. - O enredo, como costumam dizer, complica-se. Vocês trazem as vossas automáticas?
- Que é que te parece? - disse Hymie.
- Bem, se esta pessoa não ouvir a voz da razão... e for cabeça dura, teimoso, por isso, provavelmente, não vai ouvir... ora, então, eu acompanho-o ao carro. Acho que deve ser isso que vai acontecer.
- E depois? - perguntou Iggy.
- Ora, então - disse Ryan, pensativamente -, teremos de fazer uma pequena viagem às montanhas e deixá-lo lá. E para este pequeno trabalhinho estou preparado para pagar a soma principesca de mil dos melhores americanos.
- Para cada um? - disse Hymie.
- Não, não - disse Ryan, imediatamente. - Para os dois. Quinhentos para cada um.
- Estás a brincar? - disse Vaccaro, indignado. - Sabes quanto é que paguei pelo pequeno-almoço hoje, Timmy? Trinta e cinco cêntimos.
- E os ovos estão a vinte cêntimos a dúzia - acrescentou Hymie Elman. - Ovos minúsculos a vinte cêntimos a dúzia. Consegues imaginar? Os preços estão a subir, Timmy.
- Tens de arranjar mais de mil - disse Iggy, com firmeza -, ou não há negócio.
Discutiram o assunto vários minutos. Por fim, chegaram a um acordo amigável: mil e quinhentos dólares para o Iggy e o Hymie dividirem da forma que quisessem. Timmy Ryan foi então até ao bar clandestino de Jack Newton. Sentiu-se satisfeito por encontrar alguns carros na zona de estacionamento da garagem. Pôs o Nash num
154
canto distante e escuro e deixou Vaccaro e Elman ainda sentados no banco de trás. Passou a inspecção na porta trancada, entrou no bar e foi para o reservado do canto.
Pediu uma bebida e pagou-a imediatamente. Depois esperou.
Passaram quinze minutos até Barney OHara aparecer. Tinha um blusão de camurça vestido por cima de uma camisa aberta na garganta, para acomodar o colarinho ortopédico. Olhou em volta da sala. Localizou Ryan, aproximou-se do bar e sentou-se à frente dele.
- Barney, meu rapaz! - gritou Timmy Ryan, como se fosse um encontro casual. - És uma visão para olhos enfadados.
- É bom que seja importante, Timmy - resmungou O'Hara. Fazer-me sair a esta hora.
- É como te disse ao telefone, Barney, uma grande oportunidade para ti. Uma oportunidade única. Mas, primeiro, o mais importante; que é que vais beber?
- Passo. Até ver.
- Como queiras, Barney - disse Timmy Ryan com um sorriso de grande encanto. - Tenho uma confissão para te fazer.
- Oh?
- Lembras-te daquela comsersinha que tivemos na garagem? Bem, era com o Charlie Royce que eu estava a beber. Neste mesmo bar.
- Achei que era - confirmou o motorista.
- Não disseste a ninguém, pois não?
O'Hara olhou cautelosamente para o outro homem.
- Ora, não, não falei, Timmy - disse, calmamente. - Ainda não.
- Ora bem, fico feliz por saber disso. Para falar verdade, Barney, o meu encontro aqui com o Sr. Royce pode ser ligeiramente embaraçoso para ele, se se vier a saber.
- Embaraçoso? Como é que é isso, Timmy?
- Bem, o Charlie Royce é uma pessoa tímida. Oh, sim, ele é tímido, Barney. Muito tímido. Toda a gente pensa que ele é um duro com mau feitio, mas se a verdade viesse ao de cima todos veriam que ele é tímido como um menino de escola. Oh, sim. E fica com a língua presa quando tem de falar com mulheres. Então, o que tenho feito durante esses dois ou três encontros que tive com o Sr. Royce é passar-lhe os nomes, endereços e números de telefone de algumas miúdas giras. Algumas doçuras com o dom de fazer que a timidez de um homem não tenha importância. Estás a ver a ideia? Algumas senhoras que conheci enquanto trabalhava na Brigada de Costumes. Tenho facilitado a vida ao Sr. Royce...
- Acaba com isso, Timmy - interrompeu O'Hara, enojado. Julgas que sou parvo?
155
- Não acreditas em mim?
- Claro que não - disse OHara, irritado. - Charlie Royce não precisa dos teus favores como chulo.
Timmy Ryan terminou a bebida. Pousou suavemente o copo vazio. Olhou para ele pensativamente.
- Não acreditas em mim - disse, pensativamente. - Imaginem. - De repente, levantou o olhar, fixou os olhos nos de
O'Hara.
- Quanto é que seria preciso para te fazer acreditar? - perguntou.
- O quê?
- Quanto dinheiro, pá? Para te fazer engolir a minha história inteira e esqueceres tudo o que esteja relacionado com os meus encontros aqui com o Charlie Royce e
manteres a boca calada?
O'Hara olhava para ele, a abanar a cabeça de espanto.
- Timmy, a que propósito vem tudo isto? Se não tivesses dito mais uma palavra em relação a isso, já teria esquecido tudo. Por mim, até podes beber com o príncipe de Gales. Mas agora arrastas-me até aqui a meio da noite e ofereces-me dinheiro para me calar. Tenho de pensar que se está a passar alguma coisa, Timmy. Algo de que eu devesse saber mais...?
- Tens razão! - exclamou Timmy Ryan, batendo com a palma da mão na mesa. - Tens toda a razão! Eu vou oferecer-lhe dinheiro como o senhor quer, Sr. Royce, disse eu, mas Barney O'Hara não vai aceitar. Eu conheço o homem, disse eu ao Royce. Ele vai querer saber o que se está a passar, disse eu. Oh, eu disse-lhe logo, Barney. Bem, se for esse o caso, disse o Sr. Royce, se não aceitar o dinheiro para ficar de boca calada, então, não há nada a fazer se não dizer-lhe o que se está a passar. Traz-me cá o Barney O'Hara, e eu digo-lhe directamente, disse o Sr. Royce. Portanto, vamos embora, Barney. O Sr. Royce está à espera no carro.
- À espera? - disse O'Hara, confuso. - À espera... aqui?
- Ora, aqui mesmo - disse Ryan. - No parque de estacionamento. À espera para te dizer por que é que ele e eu tivemos aquelas reuniões e do que se trata. Vamos embora;
a minha bebida já está paga.
Levantaram-se, e Timmy Ryan foi a frente em passos rápidos em direcção à porta. Quando saíram para a zona de estacionamento sem iluminação, deixou que Barney O'Hara
o alcançasse. Pôs um braço por cima dos ombros de O'Hara.
- Fico feliz por irmos esclarecer este mal-entendido, Barney disse, em voz gutural. - Não devem existir mentiras ou ressentimentos entre nós, uma vez que somos da
mesma terra.
- Da mesma terra? - O'Hara deu uma gargalhada curta. - Eu nasci em Brooklyn.
- Claro, e eu não sei isso? - disse Ryan. - Mas somos os dois
156
irlandeses, não somos?, e o sangue é mais espesso do que a água, e ninguém pode dizer o contrário. Ah, Barney, ainda vale a pena ser irlandês. Somos como irmãos e...
Tagarelando com imenso à-vontade, Timmy Ryan conduziu O'Hara para o lado do Nash preto. A porta de trás abriu-se de repente. Ao mesmo tempo, a mão de Ryan abateu-se sobre as costas de O'Hara e empurrou com força. O'Hara foi aos tropeções para a frente, baixando- se para evitar bater com a cabeça no tejadilho do carro. Viu os dois homens no banco
de trás. Viu os reflexos dos revólveres. Os olhos deles elevaram-se e viu as suas caras.
- Jesus, Maria e José - disse, em voz rouca -, é o fim do Barney O'Hara!
157
Em 1913, Cecil B. DeMille trouxe uma companhia de actores até Hollywood para fazer The Squaw Man. No rasto deles, veio Abe Vogel. Tinha sido agente de artistas de variedades em Nova Iorque. Mas anteviu no que se iria tornar a indústria do cinema que estava a despontar naquela altura. Portanto, vendeu o negócio e mudou-se para o oeste para alugar um escritório em Sunset Boulevard, não muito distante do antigo celeiro de DeMille, agora parte da propriedade da Paramount.
Nos catorze anos que se seguiram à abertura das suas portas, com quatro clientes - um duplo, um realizador, uma vampe e uma dupla de tango -, Abe Vogel tinha visto os filmes feitos em Hollywood dominarem mercados mundiais, da mesma forma que tinham dominado a comunidade em que eram produzidos. Hollywood, na cabeça da maior parte dos americanos, significava fascínio, vida animada, fantasia.
Abe Vogel viu tudo acontecer e tomou parte nisso. Viu cowboys que já tinham trabalhado por cama e comida tornarem-se heróis nacionais com um salário de dez mil dólares por semana.
Viu raparigas de escola, empregadas de mesa, e não poucas prostitutas tornarem-se, literalmente, o "ídolo de milhões", com vestidos de noite debruados a zibelina, com cães de caça russos, e rolls-royce New Phantoms
E viu homens sem talento, imaginação, ou gosto subirem nas assembleias de administração do cinema e alcançar um poder incrível sobre os empregados e sobre os produtos exibidos nos ecrãs de cinema do mundo. Como tinha um gosto pela melancolia, Abe Vogel perguntava-se muitas vezes como é que esses ex-tapa-buracos, ex-biscateiros de circo, ex-vendedores de remédios tinham conseguido subir, trepar, abrir caminho até aos mais altos níveis de uma indústria que, mesmo nos seus tempos iniciais, tinha ganho fama pelos enredos bizantinos, pela desonestidade frenética e pelos métodos negociais da venda de um camelo levantino.
Concluía que a maior parte dos executivos que alcançavam destaque tinham o que Vogel denominava (para si próprio) um "centro morto". Definia isto como um implacável desejo de poder e um frio
158
desprezo pelos princípios morais. Esses homens podiam ser amigos encantadores, maridos devotados, pais dedicados ou amantes ardentes. Só quando os seus sonhos de
glória eram ameaçados é que o "centro morto" aparecia à superfície e o punhal era desembainhado.
Vogel estava convencido de que Charlie Royce era um homem deste tipo.
Havia outro factor de sucesso dos principais executivos de Hollywood que confundia o agente: a maior parte deles eram incrivelmente sortudos! Mais uma vez, Royce
era o exemplo disto. Tinha vindo ter com Vogel pedindo apenas que descobrisse uma rapariga atraente, menor de idade, desejosa de fazer carreira no cinema. Nunca fora explicado em tantas palavras, mas Vogel percebeu que aquela rapariga iria ser usada para apanhar Eli Hebron.
O plano correu muito além das expectativas de todos. Não só Hebron se comprometeu, como a rapariga também provou ser uma das propriedades mais escaldantes de Hollywood. Como seu agente, Vogel lucrava, mas Royce era o maior beneficiário. O agente não estava surpreendido; o homem era um vencedor. Vogel admirava Eli Hebron mas reconhecia com tristeza que o supervisor não era suficientemente implacável para abrir caminho pela confusão de Hollywood. Por isso, Vogel tinha apostado em Charlie Royce. Era unicamente uma decisão de negócios. E se resultava em auto-aversão, era frequentemente o preço de fazer negócios em Hollywood. Os finais cem por cento felizes estavam todos nos ecrãs.
O actual escritório de Vogel era um apartamento com quatro salas num prédio novo de um só piso em Wilshire Boulevard. Foi um dos primeiros escritórios de Hollywood a ser decorado no estilo Bauhaus. Todas as mobílias eram simples e funcionais. Eli Hebron chamava-lhe "uma fábrica com fetos". Mas, na cabeça de Vogel, as salas com pouca mobília, a frugalidade radiosa e simplicidade pura eram o alívio necessário para a selva confusa e densa de Hollywood.
Bea Winks, pelo menos, tinha o bom-gosto para apreciar a repousante e serena beleza do escritório privado de Vogel. Sentada numa ilusoriamente simples cadeira de pele e teca, ao lado da secretária em forma de caixote, olhou em volta, para as paredes brancas nuas, e assentiu aprovadoramente.
- A princípio parece vazio - disse ela ao agente. - Depois, passado algum tempo, começa-se a gostar do espaço. Talvez redecore o meu escritório assim.
- Por que não? - disse ele, com indiferença, com tolerância suficiente para não lhe dizer o que custara a decoração.
- Então, Abe - disse ela -, conseguiste o que Royce quer?
- Exactamente. Um tipo pai. Uma tipo mãe e um tipo miúdo. Estão sentados lá fora. Vais prepará-los?
159
- Dentro de alguns minutos. Tens a certeza de que o Hebron nunca os viu?
- Como é que os podia ver? - disse Vogel. - O do tipo pai é o único que já esteve à frente de uma câmara, e foi numa passagem de três segundos numa coisa de fantasia da Warner há cerca de dois anos. Tinha uma barba comprida e uma cabeleira ridícula. Se o Hebron chegou a ver o filme, o que duvido, nunca se lembraria deste tipo. A do tipo mãe é uma bailarina... ou era. A distância mais próxima a que trabalhou de LA foi São Diego.
- A queridinha da esquadra?
- Mais ou menos isso - disse Abe Vogel, secamente. - Já fui casado com ela em tempos.
- Oh, desculpa, Abe.
- Não faz mal.
- E o miúdo?
- É da irmã da dançarina. Não se importou nada de o alugar. Tem mais seis iguais a esse em casa. O miúdo é esperto e sabe ficar calado. Na verdade, quando tudo isto acabar, pode ser que tente arranjar-lhe trabalho.
Bea Winks suspirou.
- Quando tudo isto terminar - repetiu. - Achas que vai terminar algum dia?
- Claro. Royce sabe o que está a fazer.
- Será que sabe, Abe? Acho que esta ideia da família é estúpida. Qual é a ideia?
Vogel olhou para a mulher esquelética e neurasténica. Pensou com tristeza que eram muito parecidos. Mas os tiques dela estavam à vista.
- Bea, querida - disse, suavemente -, Charlie Royce não é um homem educado. Talvez nem seja um homem inteligente. Mas ele tem... o quê? Um instinto. Ele ataca na jugular. Olha para as pessoas... gente como tu, eu, qualquer pessoa... e diz, "Qual é a fraqueza deles?" Estuda Eli Hebron e vê um rapaz muito sensível, romântico, pouco prático com o dom de pôr as suas fantasias em filme. Um rapaz muito elegante e poético! Sim, um poeta. Portanto, Charlie Royce vai criar um sonho para este poeta e ajudar o poeta a tornar o seu sonho realidade. E, depois, Royce transforma-se no Harry Houdini. Agora vês, agora não. Afasta o pano e o sonho fazpuf! Desaparece no ar! Que é que achas que Eli Hebron vai fazer então?
- Não sei, Abe - disse ela, ofegante, fascinada. - Que é que ele fará?
- Por favor, querida - o agente suspirou -, vai falar com o tipo pai, com a tipo mãe e com o tipo miúdo. Diz-me se servem. Se assim for, diz a Royce que vão receber ordenado.
160
- De onde é que vem todo este dinheiro? - interrogou Bea Winks.
- Que é que interessa? - disse Abe Vogel, cansado. - Está a entrar.
A casa sombria cheirava a almíscar e sopa de lentilhas. Mal tinha entrado a porta, quando Florence Annenberg o atacou.
- Tu! - gritou. - Tu!
Saíam garras dos seus olhos. Teve de agarrar os pulsos dela.
- Não faça isso - suplicou. - Tia Fio, por favor, não faça isso! Ela guinchou, gemeu, gritou de angústia. Disse que tinha sido
culpa dele, que tinha levado Marcus àquilo, tinham confiado nele como num filho, Marcus tinha sofrido com a preocupação e aborrecimento, como é que ele podia fazer aquilo, numa cama de dor, o que é que tinham feito para merecer aquilo, por causa da traição dele, um homem querido e amoroso levado, por culpa dele, às portas da morte, ele tinha-o abatido, uma maldição sobre a cabeça dele, a sofrer humilhação, destruição, morte.
Subiu-as escadas, a sentir-se torturado, muito apertado e seco. Os comprimidos cor de laranja não tinham ajudado. Parou à porta do quarto. A fuga tentava-o. Vai. Para algum sítio, qualquer sítio. Pela primeira vez na sua vida conseguia entender o suicídio. Era uma saída. Abriu a porta, entrou no quarto.
O mordomo, Jules, estava sentado ao lado da cama. Mãos negras entrelaçadas frouxamente no colo. Olhos brancos a brilhar numa cara de pedra. Olhou para Hebron, levantou-se, veio até ao pé dele em bicos de pés. Talvez tenha visto alguma coisa nos olhos de Hebron. Pôs a mão levemente sobre o ombro do supervisor, a
apoia-lo, a guiá-lo até ao lado da cama. Marcus Annenberg estava deitado, pesadamente quieto. Estava tapado até à cintura com o lençol e com a manta de retalhos. Tinha sido aberto ao
meio com enormes tesouras a todo o comprimento do corpo. Depois, a metade esquerda fora ligeiramente deslocada para dez centímetros abaixo. O olho direito estava fechado. O esquerdo fitava furiosamente o mundo. Escorria saliva pelo canto esquerdo da sua boca.
Hebron debruçou-se sobre a cama.
- Tio Marc - murmurou. - Tio Marc, é Eli. Eli, tio Marc. Estou aqui. Eli.
Nada.
Jules inclinou-se sobre ele para limpar ternamente a baba com um lenço húmido.
- Oh, como ele está bem - sussurrou Jules. - Vamos pô-lo muito limpinho. Vai estar lá em baixo a ver filmes a qualquer
161
momento, prometo. Vai muito bem. Vai muito bem. Vivo e a respirar, é assim mesmo. Vamos lá, Sr. Annenberg. Continue a portar-se bem. Bem e calmo. Muito descanso. Sim, senhor.
A pálpebra direita subiu lentamente como uma cortina a levantar. O olho fixo moveu-se para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Hebron voltou a debruçar-se sobre a cama.
- Tio Marc? É Eli. Estou aqui. Eli. Como é que se sente, tio Marc? Nada. E, então, os lábios duros moveram-se. Hebron baixou-se
mais.
- O quê? - disse. - Não ouvi. Que é que disse, tio Marc? Volte a dizer.
Endireitou-se. Olhou para Jules. Agora, tinha lágrimas no rosto. Uma escorreu-lhe pelo queixo.
- Ele disse alguma coisa - disse a Jules. - Como "Ass co". Pareceu-me que disse "Ass co". Vê se consegues perceber.
Jules baixou-se. Inclinou a cabeça, pôs o ouvido perto dos lábios trémulos de Annenberg. Ouviu um momento, com a cara solenemente atenta. Depois endireitou-se.
-Assume o comando - disse. - Ele disse: "Assume o comando", Sr. Hebron.
Hebron assentiu em silêncio. Voltou a debruçar-se para Marcus Annenberg.
- Vai correr tudo bem, tio Marc - murmurou. - Não se preocupe com o estúdio. O empréstimo vai sair, vai ver. Vai correr tudo bem. E os familiares da rapariga vêm cá fazer uma visita. Vão ficar em minha casa. Pelo tempo que quiserem. O pai e a mãe da rapariga e um primo pequeno, um rapazinho. Todos a viver em minha casa. Isso põe tudo bem, não põe, tio Marc? A mãe e o pai dela lá? Tio Marc?
Não houve resposta. Não houve sinal de que o corpo tinha entendido ou sequer ouvido. Hebron estendeu a mão para baixo, acariciou o ombro do tio. Voltou-se. Queria beijar o homem doente, mas não conseguia, não conseguia. Arrastou-se até à porta, parou com a mão no puxador. "Se sair agora, ficarei morto para o resto da minha vida."
Voltou-se, regressou para o lado da cama. Voltou a debruçar-se, pressionou a sua boca contra aqueles lábios descarnados e torturados.
- Vive - murmurou. - Vive.
A pálpebra direita subiu devagar.
Depois, Eli Hebron saiu do quarto, voltando a ouvir o murmúrio de Jules: "Tudo bem. Está tudo bem. Tenha calma. Vai estar a pé num instante. Sim, senhor. E assim mesmo..."
Saiu para a luz brilhante do sol e protegeu os olhos com a mão. Leo estava refastelado atrás do volante àaHispano-Suiza, com a pala do boné sobre os olhos. Gladys tinha-lhe comprado uma farda castanha
162
para combinar com a cor da limusina. Ouviu a porta de trás abrir-se, ouviu Hebron entrar. Endireitou-se, puxou a pala para trás.
- Como é que está o velhote? - perguntou, jovialmente. Hebron não respondeu.
- Parece que agora vai passar a administrar as coisas - disse Leo.
- Cala essa boca suja! - gritou-lhe Hebron.
Leo, abalado, ligou o motor, e guiou devagar pelo caminho até à estrada. Hebron deu-lhe a morada.
- E como é que se sente hoje? - perguntou o Dr. Irving Blick.
- Ansioso?
Hebron despejou tudo! Estava a perder o controlo. Os acontecimentos já não podiam ser controlados. A rapariga tinha rejeitado a sua proposta de casamento. O seu motorista e guarda-costas, um bom amigo, desaparecera misteriosamente; a polícia estava a investigar. Os problemas de negócios tinham aumentado seriamente. E agora o seu tio, Marcus Annenberg, tinha sofrido um segundo e quase fatal derrame cerebral cujas culpas lhe atribuíam. Estavam a apanhar-lhe o negócio. Não tinha influência.
Os seus desejos eram ignorados. Estava só, alienado.
Tinha a cabeça cheia de ansiedades. Que é que se estava a passar? Os comprimidos cor de laranja já não conseguiam acalmá-lo.
- Ora bem - disse o Dr. Blick, devagar. - Bem, bem, bem. Enrolando a fita preta do seupince-nez no polegar gordo, começou a expor os medos de Eli Hebron.
A rejeição da rapariga, pelos motivos que ela dissera, era razoável; tinha de se admitir isso. Ela não se tinha tirado a si mesma, o seu corpo, do nosso abraço, a sua psique do nosso amor. Não estávamos a ser pessoalmente rejeitados. Eram apenas negócios. com certeza conseguíamos ver isso.
O desaparecimento do motorista podia dever-se a milhões de motivos, nenhum deles relacionado connosco. Ele tinha abandonado cruelmente a mulher e o filho. Éramos nós os responsáveis por isso? Éramos nós os responsáveis pelas excentricidades de todos os nossos amigos e conhecidos? Pelo mau comportamento da raça humana?
Os problemas de negócios eram uma coisa constante. Alguns podiam ser resolvidos; outros não. Alguns passavam simplesmente com a passagem do tempo. Mas, qualquer que fosse a sua seriedade, raramente eram críticos para a saúde psíquica. Estavam ao mesmo nível do tempo, um atacador de sapato partido, o preço da carne de porco.
Devemos sentir culpa pelo derrame cerebral do nosso tio? Compreensível, mas pouco lógico. O homem era idoso, sofria de uma perturbação deteriorativa. Não podíamos assegurar a sua boa saúde
163
para sempre. Então, por que é que nos devemos culpar pelo colapso do corpo dele?
Era desta maneira que o Dr. Irving Blick exorcizava os demónios de Eli Hebron. Tendo-o purificado, o Dr. Oliver Hardy começou a desenrolar imagens mais prometedoras.
A rapariga ainda nos ama, não é verdade? A presença contínua dela na nossa cama prova-o. E agora os pais e um primo virão visitar-nos. Iremos estar imersos numa atmosfera familiar e relacionamento sadio, risonha e ensolarada. Nada podia ser mais benéfico para a nossa saúde mental. A presença aprovadora do pai e da mãe. O barulho de pés pequenos no chão de mármore. Ah! Ah! A casa transformada em lar.
O motorista desaparecido podia aparecer a qualquer momento com uma história hilariante de uma bebedeira monumental. O que nós nos vamos rir!
Marcus Annenberg poderá recuperar e voltar a assumir as responsabilidades do seu escritório. E, se ele não o fizesse, a Magna Estúdios continuaria a crescer. É uma oportunidade maravilhosa de produzir o tipo de filmes com significado que sempre quisemos fazer.
Quanto à perda de efeito dos comprimidos cor de laranja, temos uma coisa nova para sugerir: um pó branco solúvel, para ser dissolvido num copo de água e tomado quando for necessário.
- Obrigado - disse Eli Hebron, humildemente.
Ao longo da rua de prédios a fingir e frentes falsas que levava ao terreno das traseiras do Estúdio da Magna estava uma estrutura denominada o Palácio. Era um prédio quadrado, de dois pisos no estilo egípcio-babilónico-romano-grego-etrusco. Filas de colunas de madeira, pintadas de forma a parecerem mármore, suportavam um telhado fingido de telhas, decorado com serpentes de gesso, cabeças de animais, pássaros com longos pescoços.
Lá dentro havia um pátio. A sua volta havia várias salas de reuniões, uma masmorra, aposentos para dormir, um quarto de orgias, um terraço construído diante de um fundo pintado (O mar Mediterrâneo com um vulcão em erupção à distância), e a sala do trono.
Esta estrutura única era exibida em quase todos os romances históricos e épicos bíblicos da Magna. Reis eram assassinados ali, duelos combatidos, rainhas seduzidas, ministros envenenados, bebés reais raptados, conspirações tramadas, guerras planeadas e o destino da civilização decidido.
A sala do trono, uma mistura de gesso com papier-mâché, pare-
. cia a opulente residência de um potentado amante do luxo. O chão
era de mosaicos pintados. Tinha frescos nas paredes de ninfas escassamente
164
vestidas, sátiros e animais mitológicos, deuses de barbas e guerreiros couraçados em combate.
O trono era impressionante: cheio de grifos dourados, grandes dentes de marfim, debruns de pérolas, jóias de vidro e penas de pavão. Estava elevado numa plataforma
com três degraus, conveniente para prostrações de embaixadores obsequiosos, inimigos conquistados e damas chorosas a pedir pela vida dos seus amados gladiadores.
À frente do trono, de momento, Gladys Divine e Charlie Royce estavam de frente um para o outro, estáticos, como se esperassem o grito "Acção!".
- Despacha-te - disse ele, secamente. - Tenho uma equipa à minha espera.
- Quero que desistas de tudo - disse ela, erguendo o queixo. Quero que pares com o que estás a fazer ao Hebron.
Ele ficou a olhar para ela. Desabotoou o casaco, pôs as mãos nos bolsos das calças. Começou a andar de um lado para o outro. Não desviava os olhos dela.
Maravilhava-se com a mudança que se operara nela. O queixo levantado, o olhar desafiador. Ate o seu corpo parecia mais forte, mais resoluto. A confiança tinha-lhe conferido um porte erecto, o orgulho tinha-a endurecido. O ar infantil tinha desaparecido da sua carne e do seu carácter. Tinha uma autoconfiança de aço. As feições pareciam mais marcadas, o perfil mais clássico. A determinação tinha dado firmeza à sua boca. Os olhos pareciam determinados a nunca mais chorar. O nome foi alterado e a mulher também.
Usava um chapéu justo, lilás, fato cintado de veludo martelado púrpura, longo lenço violeta em volta da garganta a cair sobre o ombro. Agora, usava as roupas como disfarces, os estilos, linhas e cores seleccionados para causarem impacte visual. Ela tornara-se, reconheceu, uma posse valiosa do estúdio.
- Não sei o que achas que isto é?! - começou ele. - Uma espécie de disputa, calculo. Um ódio pessoal entre mim e Hebron. Não é nada disso.
- Não? - disse ela.
- Não - disse ele. - É muito mais do que isso. Claro que eu gostava de estar a fazer filmes maiores. De ter orçamentos maiores. De ter mais dinheiro para mim. Era
isso que eu queria. Admito.
- Chefe de produção? - perguntou ela, astutamente. - Ser patrão do Hebron?
- Talvez também isso - disse, com indiferença. - Mas é mais importante do que isso.
De repente, era-lhe necessário que ela compreendesse os interesses que estavam em jogo. Que ela o compreendesse.
165
- É o futuro da Magna Estúdios - disse, em tom angelical. - É a conversão ao som. E produzir um produto comercial de entretenimento. Cristo, é o futuro de Hollywood que está em jogo aqui! Quem vai controlar a indústria... um bando de judeus comerciantes tacanhos ou homens de negócios americanos modernos, com iniciativa e entusiasmo?
Executivos a sério que podem trazer uma linha de produção inteligente a este negócio louco e organizá-lo.
Ela olhou para ele friamente.
- Tretas! - disse. Ele deu uma risada.
- Cresceste depressa.
- Podes ter a certeza de que sim, Royce. com a rapidez suficiente para perceber o teu chorrilho de disparates. Tu andas é atrás dos tomates do Eli. Ele é tudo o que tu não és: sensível, talentoso, imaginativo, carinhoso. E amoroso. Tu não sabes amar, Royce. E sabes disso. Hebron é tudo o que tu queres ser e não podes ser.
Olha para ti. Pareces uma coisa tirada de um cepo. Não te sabes mexer; não sabes rir; não sabes viver.
És um homem morto. Talvez até respires e tudo isso. Mas estás
morto. Sangras? Hebron, sim. Ele consegue chorar. Tu consegues? Ele sabe sorrir, lá de dentro. E tu? Ele pode ser magoado, ficar bêbedo, fazer coisas loucas, guiar
demasiado depressa e subir num avião casca de noz. E tu? Tu não consegues, não consegues! Queres foder-me?
- O quê? - disse ele de repente. - O quê?
- Tu ouviste-disse ela. - Fode-me. As vezes que quiseres. Em qualquer sítio, a qualquer hora. Se desistires do que estás a fazer. Desiste e esquece.
Ele olhou para ela incrédulo, com a cabeça a andar de trás para a frente sem acreditar.
- Eu digo palavrões para ti - disse ela, sombriamente. - Eu chupo-te todo.
Ele fez um gesto. Para a afastar. Para a calar.
- Gostas assim tanto dele? - perguntou. Ela assentiu.
- Não, não gostas nada-disse ele, asperamente.-Gostas mais de ti mesma.
- Isso não é verdade! - gritou ela, desesperada.
- Aposto que sim - disse ele, já a caminhar para fora do falso palácio, deixando-a a olhar para o trono vazio.
Pouco depois da chegada de Norman, Faith e do pequeno Stanley a Paradiso, apresentados por Gladys como o seu pai, mãe e primo, tornou-se um hábito para toda a família
tomarem o pequeno-almoço
166
juntos no terraço, se o dia estava bom. A refeição era preparada pela incompetente Bertha e servida por Leo. Mas este último provou ser um criado tão grosseiro que
normalmente toda a família ajudava, pondo a mesa e trazendo comida da cozinha para o terraço num carrinho próprio.
Os quatro adultos sentavam-se à volta da mesa branca, debaixo do guarda-sol de margarida. Stanley tinha autorização para tomar o seu leite e bolo na beira da piscina, a balançar os pés descalços na água. A refeição matinal, por vezes, demorava uma hora. A seguir, Gladys e Eli saíam para o estúdio. Norman e Faith andavam por ali, a gozar o sol da Califórnia. "Tão agradavelmente diferente de Nova Jérsia!" Ou iam às compras, levando Stanley com eles e usando as contas correntes de Hebron, com insistência dele. Faziam muitas compras.
Os pais dela, disse Hebron a Gladys, eram um casal agradável, encantador, até mesmo divertido, e ele gostava da companhia deles. Não lhe disse que os achava estranhamente diferentes um do outro.
Norman era alto, bem-parecido, com ombros descaídos. Tinha a pele manchada e as feições amareladas de um grande fumador. Contava histórias divertidas muitíssimo
bem, numa variedade de dialectos. Hebron achava o seu estilo, de alguma forma, gasto, mas não se podia negar a sua graça, a sua elegância descontraída e a sua incansável cortesia com um ligeiro tom de gozo. Podia ter sido professor de Matemática, mas demonstrou ser um péssimo marcador nos ocasionais jogos de brídege que faziam.
Faith era mais nova. Era uma mulher morena, quase gorda, mas excessivamente vaidosa com o seu corpo. Preferia vestidos muito apertados no peito e ancas. Usava normalmente o cabelo comprido
- demasiado preto para ser inteiramente natural, decidiu Hebron -, levantado num intricado penteado, que necessitava de uma dúzia de ganchos e de uma rede. Uma noite, numa pequena festa que Hebron deu em honra dos seus convidados, ela dançou um extravagante charleston ao som de entusiásticos aplausos.
Stanley, a criança, era um malandro divertido, suficientemente descarado para uma comédia. Tinha o lastimoso hábito de pedir dinheiro, mas era difícil resistir ao seu sorriso com falta de dentes. Parecia ser tolerado por Norman, mas ignorado ou evitado por Faith.
O que era estranho, considerando as providências que tinham sido tomadas em relação às dormidas. Norman ocupava um quarto de hóspedes sozinho. Faith e o pequeno Stanley ocupavam outro quarto. A Hebron, parecia-lhe uma solução singular, mas uma vez que ninguém se queixou, por ele estava bem. Gladys mudara-se para um quarto mais pequeno ao lado do de Eli, em nome da decência. Mas
167
continuava a partilhar a cama dele e guardava as roupas no quarto espelhado. Só voltava para o seu quarto para dormir. E nem sempre.
Depois de três dias de chuvadas intermitentes e uma ameaçadora cobertura de nuvens, os céus tinham ficado limpos. O azul parecia esfregado e polido. O novo sol brilhava com a força do Verão. Os homens deixaram de usar casaco nos pequenos-almoços no terraço. Faith usava um quimono japonês, e Stanley apenas uma camisola de algodão e calções de banho. De todos eles, Gladys parecia a mais friorenta, com um vestido drapeado de pique de algodão branco com uma faixa de franjas preta.
Beberam o sumo de laranja e trocaram informações sobre a forma como tinham dormido. Manifestaram-se pela bem-vinda aparição do sol e comentaram o que o meteorologista da rádio previra. Passaram ovos, bacon, torradas, doce. Discutiram os planos para o dia. Gladys e Eli iam para o estúdio, claro. Norman para o court de ténis do vizinho, que lhe tinha prometido uma partida para principiantes. Faith tinha de fazer compras. Stanley seria deixado sob vigilância de Bertha com outras crianças mais velhas, vizinhos, que iriam até lá brincar na piscina.
Este descontraído intercâmbio social era bastante vulgar, Hebron reconhecia. Algumas pessoas tê-lo-iam considerado embrutecedor. Mas ele achava a sua vulgaridade um conforto. Quase um deleite. Blick tinha estado certo: era exactamente do que precisava.
Eles estavam ali: a família a passear por ali com radiosa satisfação. Stanley, com o leite já bebido, entrava na água pelo lado mais baixo da piscina. Norman, com roupas de ténis brancas, descontraidamente recostado na cadeira, a beberricar a sua terceira chávena de café e a fumar o seu quarto cigarro. Faith, no seu quimono salpicado, meditava sonhadoramente, com o queixo apoiado no punho. Glad estava sentada com a cabeça inclinada para trás, com a cara fora da sombra do guarda-sol. Tinha os olhos fechados.
Eli Hebron observou tudo isto e desejou que aquele momento nunca mais acabasse. Parecia-lhe a paz que procurara, a tranquilidade que nunca encontrara. Viu um brilho por cima de tudo, um saudável e rosado ardor. Os seus medos ficavam reduzidos a minúsculas preocupações, nada que um homem equilibrado e corajoso não pudesse resolver. Era isto que sempre faltara na sua vida, este prazer contínuo, esta paz e amor familiar.
Havia uma fluência naquilo, uma progressão constante. Mas não era uma progressão linear, era mais parecido com uma corrente fechada. Percebia agora o que se queria dizer com "círculo familiar". Era um círculo, uma associação fechada, onde as alegrias partilhadas eram intensificadas e a dor partilhada diminuída. Conseguia ver a beleza disso.
168
Olhou para Norman, no seu brilhante trajo de ténis. Stan com o seu cabelo à Buster Brown e a vivacidade da juventude. Faith, envolta em brilhantes flores de seda, tão confortável que quase parecia preguiçosa. Glad, com o seu corpo fresco estendido, imóvel, ao sol, num silêncio de bem-estar.
E em volta deles, o calor suave do início da manhã. O cheiro de relva molhada a secar. Chamados de pássaros de algum lado. Um mundo calmo em movimento. Coberto pelo céu e pela glória do sol. Uma imagem significativa, algo para recordar, e pensou que criaria um filme com este tema. Um filme acerca de uma família unida, os seus altos e baixos, triunfos e derrotas. Mas sempre com o círculo fechado. Um pequeno mundo. Não era um mau título: Um Pequeno Mundo.
Começou a imaginar as cenas...
Mais tarde, Leo levou-os ao estúdio. Eli Hebron deu a mão a Gladys, disse-lhe como se sentia, disse-lhe que nunca tinha sido tão feliz. Ela assentiu, acariciou a mão dele e apertou-a com força contra a cara.
- Que foi? - perguntou-lhe ele.
- Estou só contente por estares feliz - disse, em voz rouca.
Florence Annenberg abriu a porta.
- Olá, Julius - disse ela, ignorando Hebron. - Obrigada por teres vindo.
Entraram juntos no quarto, com o tesoureiro à frente.
- Como é que ele está, Sr.s Annenberg? - perguntou Felder. Ela encolheu os ombros.
- Na mesma, Julius. A paralisia talvez esteja um pouco melhor. A boca parece melhor. O olho. Mas a cabeça... não está tão bem.
- Que é que o médico diz?
- Esperar. O médico diz para esperar. Talvez recuperação completa. Talvez recuperação parcial. Talvez um novo ataque que o poderá matar. Esperar. E isso que o médico diz.
- Podemos vê-lo, Sr.- Annenberg?
- Tu podes vê-lo, Julius. Está na sala de projecções. Não por muito tempo. Ele cansa-se facilmente.
- Só uns minutos.
- Tu podes entrar, Julius. Ele vai ficar feliz por te ver. Ela virou as costas, afastando-se rapidamente.
Eli Hebron suspirou.
- Ela nunca me vai perdoar. Nunca!
- A culpa não foi sua, Eli.
- Ela acha que sim. As vezes, também penso isso.
169
Marcus Annenberg estava sentado numa cadeira de rodas que estava parada na coxia central da pequena sala de projecções. Estava tapado até à cintura com uma manta. As suas pernas enfraquecidas estavam levantadas num escabelo almofadado. As mãos inchadas e manchadas pela idade estavam caídas frouxamente sobre o colo.
À luz emitida pelo ecrã conseguiam ver os lábios grossos, ainda contorcidos. A pálpebra do olho esquerdo estava descaída. Toda a cara estava descaída, como se a carne tivesse escapado; a pele vazia estava pendurada frouxamente, em pregas.
Os dois homens deslizaram para as cadeiras que ladeavam a cadeira de rodas. Lulius K. Felder na da esquerda, Hebron na da direita. Annenberg não pareceu dar pela presença deles. Olhava fixamente para as imagens trémulas do ecrã. De vez em quando, saíam sons profundos do seu interior: grunhidos fracos, pequenos gemidos. Uma única vez, um curto e agudo grito.
- Tio Marc - murmurou Eli Hebron.
- Sha, sha-disse o velhote. A cabeça pesada dele balançava em direcção ao ecrã.
Estava a ver uma das comédias curtas de Ben Stutrgart. Chamava-se A Padaria. Quatro ladrões incompetentes tentavam assaltar uma padaria e eram corridos pelos donos e clientes enfurecidos. Era um clássico do tipo tortas na cara. Tinham sido utilizados mais de trezentos pudins e tartes de merengue durante as filmagens, bem como bolos, folhados de natas, gelado, manteiga, chocolate derretido, baldes de chantilly e, no grande final, um bolo de casamento com seis camadas.
Quando Hebron e Julius olharam para o ecrã silencioso, o lançamento de tartes estava a começar. Um dos ladrões estava a limpar pwdim dos olhos pestanejantes.
- Tio Marc - disse Hebron em voz baixa -, recebemos uma carta de Boston esta manhã. Eles recusaram.
- Olha, olha! - gorgolejou Annenberg.
No ecrã, um dos clientes tentou chamar a Polícia. Uma torta esmagada contra o receptor.
- Eles dizem que a nossa situação financeira actual é muito precária - disse Felder, amargamente. - É essa a palavra que usam: "precária".
- Já tentámos todos os sítios de que nos conseguimos lembrar, tio Marc. Ninguém nos empresta.
No ecrã, um dos assaltantes corria freneticamente no lugar enquanto os seus pés escorregavam continuamente na papa que estava no chão
- Oh, oh! - disse Annenberg, aos solavancos.
170
- Estão a executar as nossas promissórias - disse Hebron. Todas as nossas promissórias de curto prazo.
- Os fornecedores estão a interromper o fornecimento - disse Felder. - Especialmente, fornecimento de matérias em bruto e processadas. Querem o dinheiro adiantado. Adiantado!
- E pá, é pá - disse Marcus Annenberg. - Viste isto? Oh, pá! No ecrã, tortas e bolos voavam em todas as direcções. Uma
mulher gorda perdeu o equilíbrio, debruçou-se. Uma tarte de merengue esmagou-se contra o seu traseiro.
- Estão a liquidar-nos, tio Marc! - disse Hebron, desesperadamente. - O banco de Boston está a apoiar um grupo local. O Julius descobriu.
- Não sabemos quem são - disse Felder. - Os locais. Mas estão a apertar. Estamos a afundar-nos, Sr. Annenberg. Precisamos de dinheiro. Não vamos conseguir cumprir a folha de pagamentos.
- Que é que podemos fazer, tio Marc? Tem alguma sugestão? Há alguém para quem nos possamos voltar?
No ecrã, um cliente levantara uma pesada torta antes de a lançar. Um dos ladrões deu uma palmada na mão dele, esborrachou-a na cara do cliente. Crosta e recheio cobriram-na.
- Hoo! - disse o velhote. - Eia!
Eli Hebron inclinou-se para a frente, olhou para a sua esquerda. Encontrou o olhar de Felder, fez sinal com a cabeça. Os dois homens levantaram-se silenciosamente, deslizaram para fora das cadeiras. Saíram em bicos de pés.
- Oh-oh! - dizia Marcus Annenberg, com os ombros a abanar.
- Olha! Ah! Ó pá!
Hebron tinha-os levado até lá no LaSalle. Tinha trazido consigo um frasco de gim. Os dois homens beberam e depois acenderam cigarros.
- A minha situação financeira não é muito boa! - disse Hebron.
- Pensei que era melhor do que é. Tive muitas despesas pessoais, não me apercebi disso. Mas ainda tenho o Paradiso. Eu vendo-o.
- Para quê? - disse Felder, tristemente. - Estará apenas a adiar o inevitável.
- Malditos! - gritou Hebron. - Por que é que nos estão a fazer isto? Por sermos judeus?
- Não - disse o tesoureiro. - Bem... talvez. Mas podem estar judeus por detrás disto. Eli, é apenas negócio. Nós deixámo-nos chegar a uma posição vulnerável, e os
piratas atacaram. É bom negócio para eles: um estúdio a funcionar, gente talentosa, uma cadeia de casas, mercados mundiais. Tiram-nos sem problemas, injectam dinheiro
fresco. Dentro de um ou dois anos estarão cheios de dinheiro. Mete-me nojo!
171
- Julius, vais ficar com eles?
- É preciso perguntar-disse o tesoureiro, acaloradamente. Nunca! Mesmo que me queiram, o que duvido. Nunca!
- Que irás fazer?
- Logo vejo. Não hei-de morrer de fome. Hei-de arranjar alguma coisa. Se tiver de recomeçar como guarda-livros, não faz mal. E você, Eli? Se o mal chegar ao pior?
- Eu tenho um contrato, mas não ficarei. A única pessoa para quem trabalhei foi para o tio Marc. Talvez conseguisse arranjar dinheiro suficiente para financiar uma produtora independente. Fazer a distribuição através da MGM ou UN. Tenho boa reputação no mercado. Tenho algumas pessoas muito boas sob contrato pessoal comigo. O Nino Cavello. A Margaret Gay. A Gladys Divine. Esses nomes têm alguma importância. Devo conseguir arranjar dinheiro.
- Claro que conseguiria, Eli. Claro que sim.
- Um grande sucesso e estou lançado. Contigo como meu director-geral, Julius.
- Quem mais? - gritou Felder. - Vamos fazer uma mina! Mas a euforia deles passou tão depressa como chegara. Atacaram
a garrafa novamente, sem olharem um para o outro.
- Ben Stutrgart filmou aquela comédia em 1922 - disse Hebron, em voz baixa.
- Eu sei! - disse Felder.-Fê-lo com quarenta mil. Imagine só! Até agora já rendeu dois milhões, e ainda está em exibição. China, índia... por aí.
- Ninguém faria uma coisa assim agora - disse o supervisor. As tartes não são suficientes. As audiências querem algo mais.
- O quê, Eli? Que é que eles querem?
-Ninguém sabe. Saber exactamente. Se soubéssemos, seríamos todos milionários. Cada filme seria um êxito. Tudo o que podemos fazer é seguir o nosso instinto e ter fé. Este negócio é para jovens, Julius. Quando somos novos, sabemos tudo.
- Você não é assim tão velho - protestou Felder.
- Hoje sou velho - disse Eli Hebron. - De repente.
- Meu Deus, tu és uma bolinha! - disse Edwin K. Jenkins. Ou melhor, és quatro bolinhas. Duas à frente e duas atrás.
- Sabes mesmo como cantar uma rapariga inocente-disse Tina Rambaugh.
- Inocente? Oh, Deus. Quem é que seduziu quem?
- Digamos que foi uma tarefa comum - disse ela. Olhou para o apartamento escabroso dele. - E isto é uma espelunca! - Ela enroscou-se dentro dos lençóis. - Como é que me portei, patrão?
172
- Prometes - disse ele. - O sonho morreu?
- Nem por sombras - disse ela. - Está a arrancar agora? Ele suspirou e saiu da cama. Ela viu-o dirigir-se à cozinha, nu.
Ele era um pau de virar tripas com pés compridos e chatos, joelhos ossudos, pernas magras e sem rabo. Apele dele era brilhante, pálida, com algumas sardas; tinha poucos pêlos no corpo. Uma pequena cicatriz azul marcava as suas costas abaixo da omoplata.
- Raios partam isto! - gritou na cozinha.
- Que foi? - perguntou ela.
- Esqueci-me de esvaziar o recipiente do gelo. Tenho uma inundação aqui.
Ela estava deitada na cama enrugada, a olhar sonhadoramente para o tecto estalado. Tinha ido até ao fim; era uma mulher decaída. E estava pronta a cair outra vez.
Ele entrou com duas garrafas de cerveja caseira na mão. Deu-lhe uma e entrou na cama, para o lado dela.
- Que é que fizeste com a inundação? - perguntou ela.
- Atirei-lhe uma toalha para cima.
- És um grande dono de casa, Ed. Quanto é que pagas por estas luxuosas acomodações?
- Dez por mês.
- Eu pago oito. Se nos juntássemos, podíamos arranjar um sítio maior.
- Viver juntos?
- Claro - disse ela. - Por que não?
- Sem a bênção da igreja?
- Por que não? - disse ela, animada. - Quem é que me quereria agora? Já fui usada.
Ele riu-se e deu um gole na cerveja.
- Experimenta - disse-lhe. Ela deu um gole cauteloso.
- Não é má.
- Fui eu que a fiz. - Não foste nada!
- Claro que fui. O bacio está na lata. Vê lá onde é que mijas. Eu tenho o meu próprio sistema de engarrafamento. Se conseguir juntar alguns dólares, vou mandar imprimir uns rótulos todos bonitos: Espuma do Jenkins.
-A cerveja de cabeça vazia-disse ela. - Como fizeste essa cicatriz nas costas?
- Um tipo alvejou-me - disse ele, resumidamente.
- Não sabia que tinhas estado na guerra.
- Oh, claro. Eu tornei o mundo mais seguro para a democracia.
- Doeu? - perguntou ela.
173
- Não - respondeu ele. - Soube bem. Sabes uma coisa? És a primeira mulher que trouxe aqui.
- Devo ser mesmo - troçou ela. - Desde ontem.
- Não. Palavra de honra. És a minha primeira convidada. Que é que posso fazer para te distrair?
- Já fizeste.
- Gostarias de ouvir O Meu País É Teu, tocado com um pente e papel higiénico?
- Não, obrigada. Ed, aquela coisa que puseste... isso evita que eu tenha um bebé?
- A camisinha? Claro... a não ser que alguém tivesse entrado aqui e lhe tivesse feito um buraco.
- Tenho muito que aprender-suspirou. Depois disse: - Gostei.
- A sério? - disse ele. - Todos aqueles gemidos e suspiros... nunca teria dado por isso.
- É suposto eu estar calada?
- Não. Geme para aí, miúda.
Pôs a garrafa no chão, ao lado da cama. Voltou-se, puxou o lençol para baixo. Debruçou-se sobre ela, pôs um mamilo cor-de-rosa entre os lábios. Roçou a ponta da língua para a frente e para trás.
- Jesus! - disse ela, ofegante.
- Uma coisinha que aprendi em Gay Parre - disse. - E, agora, no meu segundo número, vou chupar simultaneamente as duas mamas enquanto a minha mão direita vai...
- Oh, cala-te! - disse ela, pondo a garrafa de cerveja para o lado. Colocou o rosto dele entre as palmas das mãos, beijou a boca dele
apaixonadamente.
- Gostei muito - suspirou. - Foi óptimo.
- Doeu?
- A princípio. Depois foi óptimo. Amarrotei-te os lençóis. Um pouco. Eu lavo-os.
- Não te preocupes com isso.
Ele pôs os finos braços em volta dela, puxou o corpo gorducho dela para mais perto. Ela estava a arder, ligeiramente suada. A sua pele macia sabia a sal.
- Tens mais alguma daquelas coisas de borracha? - murmurou ela.
Ele assentiu, roçando os dedos entre as suas coxas pesadas. Depois tacteou debaixo da almofada, encontrou o preservativo, colocou-o.
- Domina-me - disse ele. - Faz comigo o que quiseres. Sou teu.
- Estás a começar a falar por legendas - disse ela. Ela gemeu, contorcendo-se, até o pôr em cima dela. Guiou-o.
- És quente - disse ele. - E apertada.
174
- Devagar, Ed.
- Assim?
- Assim mesmo. Oh, meu Deus. Há quanto tempo é que isto existe?
- Foi descoberto a semana passada.
- E fizeste-me esperar este tempo todo? Oh! Sim, assim! Assim mesmo! Beija-me, meu parvo.
- Sim, Theda.
Ele pôs a língua na boca dela. Ela segurou-a suavemente entre os lábios e chupou a ponta.
As mãos dela agarraram-se às nádegas lisas dele, puxaram-no para ela, para dentro dela. Libertou a língua dele.
- Estou a fazer uma coisa - sussurrou ela. - Eu sei.
- Que é?
- Estás-te a vir.
- E não consigo parar.
- Não tentes.
- Posso morrer.
- Hoje não.
- E tu?
- Alguns minutos.
- Que é que faço?
- Mexe-te para cima e para baixo. Não é a cabeça, tonta, as ancas.
- Assim?
- Assim mesmo.
-- Já percebi. É uma dança.
- Podes crer.
- Mais depressa?
- Hum.
- Eu sinto-te!
- Dança, cigana! Mais tarde, ela disse:
- O final também não foi mau. Desde que não te afastes de mim. Na primeira vez, afastaste-te imediatamente. Não gostei dessa parte. Queria-te mais perto.
- Desta vez não tive forças para sair de ti.
- Podemos fazer outra vez, Ed?
- Oh, Deus - gemeu. - Daqui a três anos.
- Pobre querido - murmurou ela, enroscando-se contra ele. Arrasado. Só para mim.
- Estou de rastos! - admitiu. - Deixa-me pegar na minha cerveja.
175
Sentaram-se na cama, com as costas contra a cabeceira. Puxaram o lençol até à cintura. Fumaram e beberricaram a cerveja morna.
-Agora, sei que Hebron está enganado - disse ele. - Acerca do Amante de Sonho. Nós decidimos transformar um sonho em realidade e funcionou muito bem.
- Sonhaste comigo? - disse ela, ansiosamente.
- Não te excites, gorda. Mas a fantasia resultou bem. Portanto, em que é que fica o nosso argumento?
-Talvez o nosso sonho fosse o último do argumento. Em que o herói assenta com a mulher. Não te assustes - acrescentou rapidamente. - Não estou a pedir-te em casamento. Sabes o que quero dizer.
- A não ser que a questão principal do filme, a questão que o Hebron queria realçar desde sempre, é que as fantasias e sonhos possam ser uma perda de tempo, possam mesmo ser perigosos, se ocuparem o lugar da realidade e se tornarem tão agradáveis que nos impeçam de tomarmos atitudes para conseguir o que queremos. Estará ele a dizer que mesmo a acção, que resulta em concessão, é melhor do que o melhor dos sonhos?
-Acho que sim-disse ela, pensativamente. - Pelo menos, é assim que vejo o argumento. Mas não tenho a certeza de que Hebron o quisesse assim. Acho que ele viu a cena final tornar-se a segunda melhor, como uma derrota.
- Bem - ele sorriu para ela -, tu e eu tornámo-nos na segunda melhor... cada um. O espantalho e a bolinha de sebo. Que derrota!
- Não nos divertimos? - cantou ela.
Durante a sua permanente investigação acerca do desenvolvimento dos filmes com som, Charlie Royce deparou com uma coisa que o interessou imensamente: um engenheiro de uma estação de rádio local estava a fazer uma colecção privada de sons gravados. Até àquele momento, era apenas um passatempo, mas o engenheiro estava convencido de que ainda ganharia dinheiro com aquilo.
- Imagine que estamos a fazer uma peça de rádio - explicou ele -, e o guião fala de uma cavalgada. Temos um homem para os efeitos sonoros no estúdio, e ele bate com duas cascas de coco no tampo de uma mesa. Soa exactamente como um cavalo a galopar, a trotar ou a cavalgar, dependendo da rapidez com que mover as cascas. Mas se quisermos fazer uma cena à beira-mar, por exemplo, então, o homem dos efeitos de som usa um disco de fonógrafo ou um cilindro de cerol. Chamamos a isso dobragem. Ele faz a dobragem
176
com o verdadeiro som das ondas, do vento, etc. Porque essa gravação foi feita à beira-mar.
- Percebo - Royce assentiu.
- Alguns sons podem ser simulados no estúdio - continuou o engenheiro. - Água a correr, uma porta a ranger, um tiro... coisas desse tipo. Mas para alguns efeitos é preciso gravações, como uma grande explosão, uma parada, barulhos da selva e assim por diante. O que estou a fazer é uma biblioteca de sons. Tenho tudo: instrumentos musicais, tempestades, uma árvore a cair, um comboio, toda a espécie de murmúrios, trinta cantos de pássaros diferentes, choques de carros, rodas a chiar, cinquenta tipos de ladrar de cão, choros e gritos... todo o tipo de coisas. Vendo-os a estações de rádio por todo o país. Até tenho multidões a rir, a aplaudir, a aclamar. Posso fazer uma peça de rádio parecer que foi filmada em frente a uma audiência de milhares. E tudo se passa num pequeno estúdio, talvez com dois ou três tipos lá dentro.
- Está tudo em discos de fonógrafo? - perguntou Royce.
- A maior parte está. Passo todo o meu tempo livre a gravar novos sons. Se tenho de sair em eampo para os gravar, gravo-os em cilindros de cerol. Depois, se percebo que há procura suficiente, faço um original e ponho os sons em goma-laca. Depois, vendo discos como Quinze Cantos de Pássaros Diferentes ou Apitos de Comboios à Noite. Coisas desse tipo. Tenho mais de quinhentos sons diferentes na minha colecção e estou a acrescentar cerca de vinte por semana. Todo o tipo de coisas interessantes.
- Conseguia fazer um disco com determinados sons, sem falas, e sincronizá-lo com uma pequena tira de filme?
- Claro - disse o engenheiro. - Isso é fácil. Que é que tem em mente?
O que Royce tinha em mente era aquela briga de bar que filmara para Drive to Abilene. Montado e editado, dava quase três minutos de filme. O supervisor descreveu-o ao engenheiro de som, disse-lhe o que queria e acordaram um preço. No dia seguinte, Royce mandou entregar uma cópia da sequência da luta e um projector alugado a casa do engenheiro.
Uma semana mais tarde o engenheiro ligou a dizer que o trabalho estava feito. Charlie foi até lá nessa noite.
O engenheiro tinha um fonógrafo eléctrico instalado ao lado do projector. Estava um disco de goma-laca com cerca de trinta centímetros no prato do gira-discos. O altifalante estava perto do lençol esticado que servia de ecrã.
- Tinha a maior parte das coisas na minha colecção - disse o engenheiro a Royce. - Outras, tive de improvisar. Outras saí e gravei especialmente. Como o piano a tocar a música sincopada. Eu sei que
177
disse que não queria falas, mas numa luta destas é de esperar alguns grunhidos e gemidos. Portanto, dobrei-os com a minha própria voz. Tudo pronto? Vamos lá.
Desligou a luz do tecto, deixando apenas uma luz fraca a iluminar. O filme e o fonógrafo começaram a funcionar. No momento em que a primeira imagem apareceu no lençol, o engenheiro baixou a agulha sobre as estrias.
Charlie Royce estava sentado a olhar fixamente. Era uma experiência totalmente nova. A princípio ficou espantado. Depois, ficou admirado. Sabia exactamente como era feito, mas não conseguia acreditar. Ficou ali sentado, a tremer, sabendo que estava a participar no princípio de algo mais importante do que pensara. Algo que iria virar o seu mundo de pernas para o ar.
Quando o espelho que estava por detrás do bar se partiu, ouviu-se. Ouvia-se o barulho do punho a acertar na carne. Ouviu-se a madeira a partir quando o duplo caiu da varanda. Ouviam-se os suspiros, os grunhidos, os gemidos, os soluços dos homens que lutavam. Ouvia-se o som das pernas da cadeira a embater contra a cabeça, o barulho das garrafas a partir, o arrastar de pés, o barulho de homens a cair.
Se o filme mudo da luta convencia, o filme sonoro subjugava. Charlie Royce pagou ao engenheiro, deu-lhe um bónus e falou-lhe de outro trabalho que gostaria que ele fizesse.
No sábado seguinte, a sala de projecções da Magna Estúdios encheu-se para a exibição semanal de testes de ecrã. Um dos primeiros a chegar foi Charlie Royce. com ele estava um homem pequeno, com uma forte semelhança com Adolphe Menjou. Royce não se deu ao trabalho de apresentar o seu acompanhante ou de explicar a presença dele. Sentaram-se em lugares da frente da coxia.
Foram visionados quatro testes, nenhum deles com interesse especial. Na sequência dos comentários finais, Eli Hebron estava prestes a terminara sessão quando Charlie Royce se levantou.
- Eli - disse -, tenho um bocado de filme e gostava de ver o que acham. Tem cerca de três minutos.
- Claro, Charlie. Podes começar.
- Muito bem - disse Royce para a sala de projecçções. - Passem aquele especial.
Os supervisores, realizadores, operadores de câmara e assistentes recostaram-se nas cadeiras. As luzes apagaram-se.
- Isto é de Drive toAbilene - disse Charlie Royce em voz alta, na escuridão. - São imagens da cópia final. com acrescentos...
Royce tinha dado instruções ao engenheiro para colocar o altifalante atrás do ecrã e para pôr o som alto.
A cena irrompeu no ecrã com uma explosão de som. com a diferença
178
de que o filme estava mais eficaz do que quando Royce o vira pela primeira vez. O ecrã profissional dava uma imagem mais nítida. O som fazia as paredes e o
tecto da sala de projecções vibrarem.
As pessoas que estavam a assistir inclinaram-se para a frente, ansiosamente, quando perceberam o que estavam a presenciar. Estavam sentados, quase encolhidos, sob
os disparos do som. O filme e a gravação estavam em sincronização perfeita. O resultado era mais excitante do que uma actuação em palco. A câmara mostrava a acção "por toda a parte", o que o palco nunca conseguiria fazer. E uma audiência de teatro também não poderia ver aqueles grandes planos ou ouvir os sons da acção com uma nitidez tão empolgante. E na montagem tinham condensado o tempo, eliminando os momentos mortos. O espectador era arrastado, levado para dentro do ecrã, fazia parte do elenco. A razão era arrasada por este assalto aos sentidos.
Quando o filme terminou e as luzes da sala se acenderam, o companheiro de Royce estava a murmurava-lhe excitadamente ao ouvido. Mas o supervisor ignorou-o, levantou-se, olhou em volta com um sorriso largo.
- Comentários? - disse, alegremente.
Ouviram-se aplausos, gritos de deleite, cem perguntas.
Charlie Royce disse-lhes exactamente como tinha sido feito. Disse-lhe que não havia motivo para que a mesma técnica, ou uma mais aperfeiçoada, não pudesse ser utilizada para reproduzir as falas no ecrã. Disse-lhes que os dias das legendas tinham acabado. Disse-lhes que os filmes sonoros já vinham a caminho - já não havia retrocesso - e iriam acabar com os espectáculos de variedades e com os palcos, e acabar com a ameaça da rádio como um meio de entretenimento competitivo.
Ouviram-no com muita atenção, e em silêncio, a pensar nos seus próprios empregos, carreiras ambições.
- Então e tu, Eli? - perguntou Royce, de repente. - Qual é a tua reacção?
Hebron tinha estado sentado em silêncio. Tinha feito uma torre com as mãos, e pressionava os polegares contra os lábios, enquanto ouvia o reboliço à sua volta. Ouviu o desafio de Royce, suspirou, levantou-se em silêncio. Os dois supervisores olharam um para o outro, eram os únicos que estavam de pé.
- É uma inovação interessante, Charlie.
- Inovação?
- E nem por isso muito nova - disse Hebron. - Funciona bem numa luta de salão. Slam! Bang! Pow! Mas filmes com actores a falar? Não me parece. Não nego que podia ser feito. Apenas duvido se será desejável.
179
- Por que é que não é desejável?
- Chaplin disse que pôr som num filme seria como pôr bâton numa estátua de mármore. Nós estamos a desenvolver uma nova forma de arte. Já nos levou trinta anos e percorremos um longo caminho. Agora, temos actores de cinema que são artistas de um tipo muito especial de pantomina. Viste o Flesh and the Devil? Aqueles beijos entre a Garbo e o Gilbert são as cenas mais eróticas que já vi. Achas que deveriam estar a falar durante essas cenas? O som não teria ajudado nada; teria prejudicado.
- Estamos a falar da Garbo e do Gilbert - disse Royce. - Eles conseguem fazer cenas silenciosas como aquela porque são bons. O som teria ajudado quaisquer outras pessoas.
- Estás deliberadamente a fugir à questão - disse Hebron, furioso. Parou por alguns segundos.
Os assistentes presentes, que já tinham trabalhado com ele, reconheceram os sinais do aumento de tensão. Pestanejava com mais frequência. Os seus dedos começaram a tamborilar nas costas da cadeira que estava à sua frente. Tinha a cabeça muito direita e olhava para Royce.
- Que é que estás a tentar fazer com o cinema? - perguntou. A tentar apanhar um mundo tridimensional num ecrã com duas dimensões. A tentar apanhar uma sucessão de imagens com significado. A tentar mostrar mais do que mostramos. As maiores artes são as que têm mais limitações, onde a técnica é mais difícil. É mais fácil escrever uma canção popular do que uma ária lírica. É mais difícil escrever um bom poema do que um cartão de felicitações. Quanto mais ? alto o padrão mais difícil é a arte e maior o resultado, quando se tem sucesso.
Olhou em volta da sala. Pareciam estar todos a olhar para ele com caras confusas e preocupadas. Sabia que estava a perdê-los, e isso enfurecia-o.
- É uma nova forma de arte - disse, alto. - E uma forma de arte original. Não é o palco; não é fotografia com rádio metida no meio. É uma arte muito especial, com uma técnica muito difícil. Raramente, é bem sucedida. Quando é, não há nada no mundo que a iguale. O som é uma técnica imitativa. Tornaria a arte do cinema mais fácil mas não melhor.
- Arte - disse Royce, parecendo divertido. - Não paras de falar em arte. Não vejo grande arte por aqui. Vejo muitos bons entretenimentos. Desce à terra, Eli. Não estamos a tentar produzir uma Mona Lisa. Se conseguirmos lançar um bomKatzenjammerKids, já podemos ficar satisfeitos.
Todos riram, o que enfureceu Hebron. Agarrou as costas da cadeira com as mãos a tremer. Olhou em volta, furioso. Os seus lábios
180
estavam brancos. Começou a falar, a voz falhou, parou. Respirou fundo, começou novamente.
- É exactamente devido a essa atitude que tanta porcaria se transforma em filme. Tu não te importas com o que é, desde que venda. Por que é que não te limitas a fotografar duas pessoas a foder? Seria uma sensação. Grandes lucros.
-Vá lá, Eli - dise Royce, pausadamente, a apreciar tudo aquilo.
- Sê realista.
- Realista? - gritou Hebron. - É esse o teu problema, Royce: és realista de mais, tal como os teus filmes. Achas que estamos a trabalhar numa forma de arte realista?
Que é que tens no cérebro? Achas que uma cena de luta a sério se parece com a que tu acabaste de passar? Uma merda é que parece, e tu sabes isso! Não há realidade no ecrã. Impossível. Nós estamos a vender sonhos. Não consegues meter isso na tua cabeça burra? Achas que a Greta Garbo está loucamente apaixonada pelo John Gilbert? É tudo fantasia. E quando mais se aproxima da realidade... como ter actores no ecrã a falar... mais se afasta de um bom filme.
Charlie Royce abanou a cabeça.
- Estás muito longe da verdade, Eli - disse, pesarosamente. Os filmes deviam ser mais realistas, não menos. Vejo-nos a fazer filmes de guerra e sobregangsters e cenas de amor escaldantes. Coisas tão duras e violentas como a própria vida. Achas que isso não venderá? Uma merda é que não! Porque as pessoas reconhecerão que é verdade. Mostrar-lhes-emos o mundo real, o mundo realista, com acção rápida e conversas mordazes. Então, vais ver os lucros a subir. Mas não se continuares a produzir essas coisas suaves, sonhadoras, agradáveis que tu fazes. Sonhos? Tretas, pá, tu só estás a tentar vender os teus próprios sonhos. Ninguém está interessado nos sonhos dos outros. São a coisa mais chata do mundo. Mas se tu...
- Tu não tens miolos! - disse Hebron, aos gritos. - Não percebeste uma palavra do que eu disse. Mete o som e será o fim. Os filmes transformar-se-ão apenas em variedades
filmadas. E será culpa tua. Tua e de pessoas como tu, que acham que os lucros são a
forma de julgar o sucesso ou fracasso. É como julgar um grande quadro pelo custo
da tela e da tinta. Tu és estúpido e não tens o bom senso de perceber isso.
- Vá lá, vá lá, Eli - disse Royce, acalmando-o. - Acalma-te. Arrefece. Isso não passa de uma discussão amigável. Estamos apenas...
Mas Hebron já abria caminho, furiosamente, até ao meio da sala. Ia a murmurar, a empurrar pessoas para o lado, aos tropeções, arremetendo os braços em volta com brusquidão. Saíram da frente dele, abrindo-lhe passagem até à coxia. Por momentos, pareceu que
181
tencionava atirar-se a Charlie Royce, atacá-lo fisicamente. Mas, por fim, voltou costas e saiu apressadamente da sala de projecções, a murmurar obscenidades, com saliva nos lábios e no queixo.
Fez-se um silêncio pesado quando ele saiu. Então, Charlie Royce olhou em volta sem expressão.
- Muito bem - disse, autoritariamente -, por agora é tudo. Tenham um bom fim-de-semana. Cá vos espero frescos e cedo na segunda de manhã. Sóbrios.
Ouviram-se alguns sons de risadas nervosas. A sala ficou vazia.
- Depois do que vi esta tarde - disse Benjamin Sturdevant, endireitando o seu laço às bolinhas -, tenciono dizer aos meus mandantes que acelerem o plano.
- Gostou do filme sonoro? - Charlie Royce sorriu.
- O filme? Oh, isso foi tremendo. Mas não me estava a referir a isso. Referia-me à conduta de Eli Hebron.
- Pois, deu um belo espectáculo.
- Não diria que está mentalmente perturbado - disse Sturdevant -, mas parece mesmo emocionalmente perturbado.
- Realmente, não estava a dizer coisas com grande sentido.
- Não foi só o que disse mas a forma como o fez. Estava desconL trolado. Não queremos um homem assim ligado à Magna Filmes. Se não se consegue controlar, como raio é que pretende controlar um estúdio? Eu senti que ele estava muito perto da violência.
- Hebron? - disse Royce. - Não. Não é o género.
Estavam no bangaló de hotel de Charlie Royce, na conversa. Estavam os dois afundados no sofá, com os pés em cima da mesa de cocktail. Royce tinha posto uma garrafa de uísque White Horse, um balde com cubos de gelo, uma garrafa de água gaseificada em malha de arame. Beberricavam ambos uísque com soda , em copos altos.
- Como é que vai tratar disso? - perguntou Royce, curioso. Demiti-lo, simplesmente?
- Oh, não. Ele tem contrato. Preferiríamos que fosse tudo feito de maneira civilizada. Vamos limitar-nos a comunicar-lhe as condições do seu emprego e deixar que ele se demita.
- Que condições?
- Uma limpeza completa do pessoal financeiro. Felder vai ter de ir. Vamos pôr o nosso próprio tesoureiro. Os outros executivos podem ficar... temporariamente. Livramo-nos deles dentro de algum tempo. Para dar oportunidade a novas pessoas de aprenderem o ofício.
- Então... e o som?
- Oh, vamos converter-nos, sem qualquer dúvida. Vai demorar
182
provavelmente um ano ou dois e exigir um grande investimento. Mas não vejo que tenhamos alternativa.
- Não temos - disse Royce. - Não, se quisermos ser competitivos. Então e os supervisores de produção?
- Hebron vai, é claro. E talvez o Phil Nolan. Aquelas curtas-metragens de viagens não estão a dar lucro. Ben Stutrgart pode ficar. E vamos trazer um talento novo. Para ficar no lugar de Hebron e para tratar dos westerns.
Royce endireitou-se. Voltou-se para olhar para Sturdevant.
- Os westerns? Então e eu?
O advogado ficou a olhar solenemente para ele por momentos. Depois sorriu, pôs a mão no braço do supervisor.
-Não se preocupe, Charlie-disse calmamente. - Nós sabemos. quem são os nossos amigos. Vamos criar um novo cargo de executivo: chefe de produção. Mais uma razão para o Hebron se querer ir embora. Charlie, o que acha da ideia de ser chefe de produção da Magna Filmes, S. A.?
Royce despejou o uísque. Debruçou-se para a frente, misturou mais um para que Sturdevant não visse a expressão da sua cara.
- Parece-me bom - disse, casualmente. -vou ser responsável por todos os filmes que saírem?
- De toda e qualquer imagem - confirmou o advogado. - Além do mais, queremos que trate da conversão ao som. Uma grande responsabilidade, Charlie.
- E um grande salário a acompanhar?
- Isso nem é preciso dizer.
- Vamos dizê-lo de qualquer forma. E algumas acções?
- Acções? - disse, cautelosamente, Sturdevant. - Quanto a isso, não tenho a certeza. Tenho de falar com a minha gente e ver se se consegue arranjar alguma coisa.
- Claro que consegue - disse Royce, alegremente, recostando-se. - Não sou ganancioso. Só uma coisinha pequena, para me dar um interesse pessoal pelo futuro da Magna.
- vou ver o que posso fazer - disse Benjamin Sturdevant. Preparou outra bebida para si, depois ergueu o copo. - À prosperidade! - disse.
- Bebo a isso!
- Se conseguirmos trazer o Herbert Hoover, o céu é o limite! disse o advogado. - Todos esses anarquistas de barba e bombistas russos não vão perceber o que os atacou. Esses chefes sindicais de boca grande? Não têm qualquer hipótese. Vai ver prosperidade como nunca pensou ser possível. Charlie, fiquei muito impressionado com as suas ideias de fazer filmes de guerra e de gangsters. Coisas realistas. Acho que está no caminho certo.
183
- Pode ter a certeza de que estou. Aquele maluco do Hebron com os seus sonhos e fantasias... não percebe nada disto.
- Negócio fascinante-disse o advogado, abanando a cabeça. É tudo novo e estranho para mim, mas posso dizer-lhe que o acho fascinante. Sinceramente, invejo-o.
- Inveja-me?
- Oh, o trabalho de advogado é muito insípido. Este assunto da Magna foi uma coisa diferente. Mas, normalmente, é quase só burocracia. Coisas chatas. É por isso
que o invejo... uma coisa nova todos os dias. Um filme novo, um novo desafio.
- Acho que se pode dizer isso.
- E tem oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes. Quero dizer, gente com talento. Mulheres bonitas.
Charlie Royce já andava a pensar quanto tempo demoraria Benjamin Sturdevant a tocar naquele assunto. Não havia um executivo na indústria de cinema que não tivesse sido já abordado da mesma forma cautelosa por um amigo ou conhecido. Mas não ia desapontar o advogado. Não com um negócio de acções no horizonte.
- É verdade, Ben - disse, com sinceridade. - Especialmente sobre as mulheres bonitas. É uma das melhores partes do meutrabalho, posso assegurar-lhe!
Trocaram gargalhadas varonis.
- Não acreditaria - disse Royce, com sinceridade -, quantas há por ali. Cem coisinhas deliciosas e novas para cada papel disponível. Fazem qualquer coisa para conseguir um trabalho de algumas horas. Uma figuração. Só uma oportunidade à frente da câmara. Ora, Hollywood está cheia delas. Eu podia pegar no telefone e mandar vir uma dúzia delas antes de você conseguir baixar as calças.
- Ora bem - disse Sturdevant, ofegante. - Ora bem. Profissionais, quer dizer?
- Putas? - disse Royce, indignado. - Eu não diria isso! Estou a falar de candidatas a actrizes de cinema. Possíveis estrelas. Jovens. Ambiciosas. De todo o país. Virgens, a maior parte. Não estou a dizer que todas tenham talento para singrarem no cinema, mas estão todas ansiosas por isso. Meu Deus, como estão ansiosas! Como disse, fariam tudo. E eu quero dizer mesmo tudo.
- Ora, vejam só - disse o advogado, lentamente. - Calculei que você e eu jantássemos juntos esta noite. Talvez uma companhia feminina não fosse má ideia. Num sítio fora do circuito. Fazer disto uma festa. Jantar... e depois deixar a natureza seguir o seu curso. Certo, Charlie?
- Jantar? - Royce deu uma gargalhada. - Não é preciso, Ben. E ssas raparigas sabem como é. Se lhes der uma bebida e um táxi para casa ficarão agradecidas. Quer que arranje duas para nós?
184
- Bem. ah... é consigo, Charlie. Como quiser.
- Por que não? Vamos comemorar. Não é todos os dias que tenho oportunidade de ser chefe de produção da Magna Estúdios. Que é que quer?
- Desculpe?
- Que tipo de miúda? Nova? Madura? Loura? Morena? Uma ruiva? Magra ou gordinha? Tímida ou faladora?
- Quer dizer que posso escolher?
- Eu disse-lhe que há centenas delas. Que é que lhe agrada?
- Bem... uh... talvez uma lourinha meiguinha. Sabe como é. Cheia nos sítios certos. Muito nova. Como uma dessas petulantezinhas novas. Do tipo que não se importa. Louca a sério. Fuma, bebe uma, duas, três ou quatro bebidas. Ouvi dizer que algumas dessas miúdas animadas sobem para uma mesa e dançam sem uma peça de roupa. Só com um colar de contas. Consegue imaginar isso? Bem, percebe, alguém assim...
- Eu conheço a miúda certa - disse Royce. - Uma fera. Louca? Você não ia acreditar!
- Bem - disse Sturdevant, nervosamente -, não muito louca. E você, Charlie?
- Eu? Acho que esta noite vou arranjar uma rapariga pequena. Morena, cabelo curto. Pernas compridas e que se mexa bem. Magra. Flexível como um chicote. Fria, quando
se olha, entende, mas o diabo quando se despe. Uma miúda que sabe usar a língua.
- Traga-as! - gritou Benjamin Sturdevant. - Estou doido para começar!
Então, Charlie Royce foi até ao quarto e ligou para Bea Winks. Disse-lhe o que queria e que pagava a conta.
Gladys Divine dera intruções explícitas para a tarde. Sairia do estúdio mais cedo, ao meio-dia. Leo conduzi-la-ia a Beverly Hills na limusina. Hebron deixaria o escritório às duas da tarde, não mais. Iria para casa no LaSalle.
- Porquê tudo isto? - perguntou-lhe ele.
Ela pestanejou. Tocou na cara dele com a ponta fria dos dedos.
- Um segredo - disse ela.
- Um segredo agradável?
- Vais gostar - prometeu ela.
Ele parou à frente da entrada para ver um Paradiso deserto. Não se via sinais de ninguém em lado nenhum. Encontrou a porta da frente fechada. A resmungar, tirou a sua chave, abriu a porta, entrou. E saltaram todos para ele, a gritar: "Surpresa!"
Viu o carrinho com garrafas, copos, gelo. E um enorme bolo de aniversário
185
com as velas acesas. com os olhos a arder, percebeu que fazia quarenta e um anos nesse dia, e alguém se tinha lembrado disso. Voltou-se para fazer os agradecimentos.
E, então, reparou que estavam fantasiados para a sua festa. com fatos de filmes...
Ali estava o esguio Leo, vestido de Rudolph Valentino em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Madeixas de cabelo louro molhado saíam do seu chapéu gaúcho.
A gorda Bertha de vestido régio, tiara e de colares brilhantes de Marie Dessler em Breakfast at Sunrise.
Norman, vestido de Messala de Francis X. Bushman em Ben Hur, a estalar o chicote, deliciado.
Faith, a flirtar de colar de flores e saia de palha (Gilda Gray em Alomaofthe South Seas), adançar umhula que teria inflamado Warner Baxter.
O pequeno Stanley, de Jackie Coogan, em The Kid, de boné mole posto de lado, calças largas seguras por suspensórios.
E Gladys... Gladys com um vestido reduzido e brilhante de lantejoulas e contas, igual ao de Joan Crawford em Our Dancing Daughters. Os sapatos prateados tinham tiras com nósT
Amontoaram-se à sua volta, a gritar "Parabéns!". Glad insistiu que abrisse a garrafa de champanhe e bebesse o primeiro copo. Ele fê-lo e suspeitou que fosse limonada com soda. Mas não importava; Glad pensava que era champanhe e era isso que contava. Todos beberam um pequeno copo, até Stanley. Quando a garrafa ficou vazia, havia gim, scotch, uísque de centeio. Eli Hebron tirou o casaco e a gravata. Agradeceu a oportunidade de esquecer.
Levaram o carro até ao terraço, onde Leo tinha colocado a sua vitrola de corda. Beberam, mordiscaram bolo de aniversário e dançaram ao som de Five Foot Two, Eyes ofBlue, IfYou Knew Susie... How Come You Do MeLike You Do?, Faith dançou umcharleston ousado ao som deDont BringLulu, e Gladys e Eli cantaram juntos Yes, Sir, That"s My Baby.
Depois, a pedido de Stanley, jogaram. Uma perseguição desenfreada em volta da piscina. Uma sessão hilariante de esconde-esconde no meio das árvores e arbustos. Por fim, no relvado crescido e cheio de ervas daninhas, formaram um círculo para jogar à cabra-cega.
Eli Hebron foi escolhido para ser a primeira cabra-cega. Ofuscado, condescendente, olhou em volta para os actores brincalhões, que riam pateticamente. Mulheres bonitas e xeques, conhecia-os a todos. Por cima, um sol forte continuava a brilhar quando lhe amarraram um lenço opaco em volta dos olhos e o rodaram. Soltaram-no, e andou aos tropeções, de braços estendidos.
- Aqui! - gritavam. - Aqui! Aqui! - E ele ia aos tropeções com
186
as mãos estendidas para os agarrar, para os segurar, para os reconhecer.
- Aqui!
Caiu de joelhos, ouviu as gargalhadas de sarcasmo, levantou-se.
- Aqui!
Avançou num impulso, para tactear, para agarrar. Só apanhou ar vazio para respirar.
- Aqui!
Ouviu os gracejos deles. Sentiu o sol quente a queimar. Andou em volta, a cambalear. Mas eles baixavam-se para ele não os apanhar, curvando-se e atirando-se para o chão.
- Aqui! Aqui!
Até que, exausto, fraco e ofegante, ele sentou-se de repente. Deixou-se cair de costas sobre a terra quente. Braços e pernas estendidos a tremer. Os risos deles pararam quando ele se deitou, aturdido. O mundo tremeu debaixo de si. E, então, uns lábios frios pressionaram-se contra os seus.
- Glad? - disse ele.
- Sim - disse ela.
Ela estendeu-se ao seu lado. Ainda com a máscara, tocou na carne através das lantejoulas e das contas, através das franjas e laços.
- O que eu quero saber... - disse ele, em voz fraca. - O que não entendo...
- O quê, Eli?
- Quando me tocas, em público, fico tão grato, e, em privado, o que fazes, é tão bom. Às vezes és tão curiosa e ansiosa por aprender. Uma inocente, ou tão experiente que me prendeste a ti, porque eu preciso disso, mas não compreendo, não te consigo ver inteiramente, ou conhecer, mas é melhor assim. Glad? É melhor?
Ela fez um som, tirou-lhe a venda. Ajudou-o a pôr-se de pé, ajudou-o a voltar para casa. Os piscos azuis tinham desaparecido, partido. Já não ouvia os barulhos deles. Ela ajudou-o a subir a escadaria larga. Despiu-o no quarto espelhado enquanto ele balançava. Ela trouxe uma toalha molhada e limpou a cara e o corpo dele. Depois, trouxe um lenço embebido numa colónia forte que lhe provocava formigueiros na pele e o fazia tremer.
- Eu estava bêbedo - disse ele.
- Nem por isso - confortou ela. - Foi o sol, devias ter comido.
- Agora, gostava de uma bebida grande e fresca - disse ele. Qualquer coisa.
Ela saiu. Ele ficou deitado na cama, de braços e pernas abertos, com uma paz lânguida a percorrê-lo. Pensou se a morte seria assim, força e vontade a desaparecer, a dissolverem-se.
187
Ela trouxe um copo gelado. Pousou-o sobre a testa dele, depois pressionou-lho contra o rosto ardente. Encostou-lho à garganta, segurou-o contra os seus braços e costelas. Ele tremeu de prazer e desejou pôr novamente a venda.
Abriu os olhos para a ver despir-se lentamente naquele início de noite. Nesta altura, num dia claro, a luz era brilhante, saudável. Inflamava o ar, dava uma patine bronzeada à carne viva. A pele dela parecia manchada de ferrugem. Mamilos de um castanho quente. Cabelo de sombras de tons levemente diferentes. Ele ansiava por cor nos filmes, para poder apanhar humores pastel e tensão vibrante.
Pareceu-lhe que ela vinha a ondular na direcção dele. Sem grandes gestos, numa doçura radiosa. Nunca se fartava da sua macieza jovem. O cabelo curto, a apertada e dura anca. Era toda uma peça só, não tinha nada ligado, não tinha membros. Inteira, como se ele pudesse abraçar um cilindro ou acariciar um globo.
- Feliz? - perguntava ela, constantemente, com frenesim na voz. - Isto faz-te feliz? E isto? O quê?
- Amo-te - disse-lhe ele. - Isso faz-me feliz.
- Não, não - gritou ela. - Deixa-me. Deixa-me.
Ele não podia atendê-la. Só a sua rendição total a acalmava. Ela pô-lo todo na sua boca abrasadora. Os seus lábios sugadores, os dentes afiados, pareciam querer devorá-lo. Pele, carne, osso, cartilagens. O seu coarção a bater.
- Obrigada - soluçava constantemente. - Obrigada.
Ele não conseguia entender o desejo dela, não sabia as necessidades dela. Era tudo um sonho através de um lenço opaco, uma vida rápida e vacilante. Lábios molhados brilhavam suavemente. Um clarão nos olhos. Gostos igualmente passageiros. Odores passageiros de perfumes. Tudo ténue e fugaz: ela, ele, o imaginado e intangível rnundo, a vida nublada.
Entregou-se. Ao longo esvaimento....
Mais tarde, quando ficaram esgotados e silenciosos, tomaram banho, vestiram-se e desceram. Os outros estavam todos na sala de projecções, a sorrir e a chorar a ver O Sétimo Céu.
Entraram no escritório de Eli Hebron numa fila única, cada um com uma pasta preta. Tinham os três a solenidade bajuladora de agentes funerários. Frankin Pierce Archer vinha a frente, vestido com um fato cor de terra de tweed peludo. Atrás dele entrou um homem que Hebron reconheceu como o companheiro de Charlie Royce na sala de projecções, no sábado anterior. Foi apresentado como Benjamin Sturdevant. Hebron tinha a certeza de que se vestia de forma a aumentar a sua semelhança com Adolphe Menjou. Por
188
que outro motivo um habitante de Los Angeles usaria colarinho de bicos, polainas curtas, uma botoeira, e um fato de risca fina de corte tão constritivo?
O terceiro homem, Edward J. Haldwell, tinha a forma pachorrenta de falar de um homem do oeste, mas tinha a palidez de um banqueiro e os olhos incisivos de um furão.
Parecia particularmente bem vestido para o papel de agente funerário, com
um fato brilhante de lã tropical preta, camisa branca e gravata preta de malha.
Hebron íicou chocado com a imponência daqueles três homens. Não apenas com a estreiteza das cinturas dos seus casacos, pernas das calças, o impecável corte dos seus
colarinhos engomados, mas também com a rigidez das suas maneiras: membros tensos, dedos curvados para os pulsos, os impulsos desajeitados dos seus movimentos. Até o discurso deles parecia estrangulado: palavras gargarejadas, frases elípticas. Uma estenografia verbal rápida.
Ofereceu cadeiras; preferiram ficar de pé. Desejou que tencionassem fazer uma reunião breve.
Disseram-lhe que em vez de deixar a Magna Filmes, S. A. ir à falência, os credores tinham-se reunido e nomeado Archer, Sturdevant e Haldwell para a comissão ad-hoc de gestão, para estudar a situação financeira e arranjar um plano para salvar e revitalizar a Magna Estúdios.
- Por que é que estão a dizer-me isto? - perguntou-lhes Hebron, satisfeito com a sua compostura. - Eu não sou dono da Magna. Estou a tentar mante-la operacional durante a ausência temporária de Marcus Annenberg. A Magna pertence e é dirigida pelo Sr. Annenberg.
- Não, senhor - disse Franklin Pierce na sua voz fina e nasalada. - O Sr. Annenberg foi declarado incompetente pelos tribunais, a pedido da Sr.s Annenberg. Foi concedido poder legal à mulher dele para tomar as decisões financeiras por ele. Já chegámos a acordo com a Sr.a Annenberg.
- Quer ver cópias desses documentos, senhor? - perguntou Benjamin Sturdevant. - Temo-los aqui.
- Não - disse Hebron, com tristeza. - Não é necessário. Ela traiu-o, não foi?
- Senhor, o Sr. Annenberg não está em condições de tratar dos seus negócios - disse Sturdevant.
- E, provavelmente, nunca mais vai estar, senhor - disse Archer.
- O melhor interesse dele foi o factor decisivo da decisão da Sr.a Annenberg - disse Haldwell. - Tenho a certeza disso.
- Não duvido - confirmou Hebron. - Então... e agora? Os senhores são os responsáveis, é isso?
189
- É mais ou menos isso, senhor - concordou Haldwell. Tencionamos instituir determinadas alterações de gestão imediatamente.
- Que alterações?
- Charlie Royce foi nomeado chefe de produção - disse Archer, com firmeza. - com responsabilidade total... e autoridade, devo acrescentar... sobre todos.os produtos da Magna Estúdios.
- Produtos, hem? - disse Hebron, com uma gargalhada seca. Que mais?
- bom - disse Sturdevant. - Tencionamos começar a conversão ao som imediatamente.
- Então, querem a minha demissão? - perguntou Hebron. Os três homens trocaram olhares.
- Isso seria o melhor para todos - disse Haldwell. - Mantém as coisas em termos educados e civilizados. Inventamos uma história para os jornais do ramo a explicar que saiu para explorar outras oportunidades na indústria do cinema.
- E, senhor - disse gravemente Archer -, expressando os agradecimentos desta comissão pelos serviços que prestou à Magna Filmes.
- Queremos o mínimo de publicidade possível em relação a esta mudança - disse Sturdevant. - Senhor - acrescentou.
- É verdade - concordou Hebron. - Não vale a pena assustar os exibidores, pois não?
- Então, está de acordo-perguntou Haldwell, aparentemente surpreendido por ter corrido tão bem. - Quero dizer, está de acordo com a demissão?
- Mandámos dactilografar um pedido de demissão para o senhor assinar - disse Sturdevant, abrindo a pasta.
HEli Hebron recostou-se na sua cadeira giratória. Pôs as mãos atrás da cabeça. Olhou para o tecto.
- Oh, não sei - disse, sonhadoramente. - Talvez fosse melhor pensar um pouco no assunto. Dormir sobre ele. Pode ser que decida deixar que me despeçam. Posso decidir enviar eu próprio algumas declarações para a imprensa do ramo. Vocês sabem, a verdadeira história de como a Magna Filmes foi arruinada e de como um bando de chacais, liderado por um banco do leste, se apoderou dela.
Fez-se um silêncio tenso durante alguns segundos.
- Há leis contra a difamação - disse Archer, duramente.
- Que é que vai fazer... processar-me? - Hebron sorriu, divertido. - Dar-me uma sala de tribunal como teatro?
- Quanto é que quer? - disse Haldwell, asperamente. - Para se demitir e manter a sua maldita boca fechada?
- Quanto é que eu quero? - repetiu o supervisor pensativamente.
190
- Neste momento, não sei o que quero. Mas vou pensar cuidadosamente na vossa oferta e depois digo-vos.
- Vinte e quatro horas - disse Archer, rudemente - Se não nos disser nada até ao meio-dia de amanhã, está despedido. Na rua. Nós sobreviveremos a qualquer lama que nos possa lançar.
- Oh, não me parece que o Sr. Hebron leve por diante a sua ameaça - Benjamin Sturdevant sorriu. - Não me parece que esteja em posição de levar o seu caso para os jornais.
- Que é que isso quer dizer? - Hebron franziu o sobrolho.
- Suponha que esperamos vinte e quatro horas para ver-disse Sturdevant calmamente. - Aconselho-o a considerar a sua decisão com muito, muito cuidado, à luz da sua, hum, situação pessoal. Vamos, cavalheiros? Uma chamada para o meu escritório ao meio-dia de amanhã, Hebron.
E foi assim que terminou. Saíram em fila, tão solenemente como tinham entrado. Hebron ficou a olhar para eles, deprimido e desconcertado. Já estava à espera, embora tivesse sido mais rápido do que previra. Só não suspeitara do papel de Charlie Royce na tomada de controlo da empresa. Isso era um choque, embora tivesse consciência da inimizade do homem. Mas sabia que a confiscação da Magna teria acontecido mesmo sem a traição de Royce.
Não tinha nenhum desejo especial de prejudicar as pretensões da Magna com novos donos. A sua ameaça de começar um falatório nos jornais era simplesmente um estratagema para conseguir um acordo financeiro extra. Isso poderia permitir-lhe tornar-se produtor de cinema independente. E o esquema parecia estar a funcionar até Sturdevant fazer os seus comentários maliciosos. Foi aquela referência à sua "situação pessoal" que confundiu e alarmou Hebron.
Foi até ao lavatório. Dissolveu um dos pós que o Dr. Blick lhe tinha dado e engoliu-o. Voltou para a sua secretária, encheu um copo de gim morno. A beber, foi até às janelas e olhou para baixo, para o pátio.
Uma tribo de índios com enfeites de guerra saiu a rir do refeitório. Um grupo de esquimós corria em direcção aos lotes traseiros a puxar um trenó com rodas. Dois cómicos de calças largas caminhavam de forma trapalhona, com uma escada de borracha de três metros. Bea Winks levava em manada um grupo de raparigas persas de harém para o estúdio interior um. Dois cowboys praticavam a rapidez do saque, apontando os seus seis-tiros a Kaiser Wilhelm, a cavalgar num enorme cavalo branco. Os destroços de um biplano estavam a ser arrastados para o estúdio exterior três. Um grupo de soldados de infantaria dirigia-se à Maquilhagem & Guarda-Roupa para lhes serem colocadas ligaduras ensanguentadas. Um desenhador
191
de cenários passava apressadamente com uma estátua de Vénus depapier-machê ao ombro.
Eli Hebron ficou a olhar para esta actividade. Depois, voltou-se para deitar mais gim no copo, para limpar a secretária. E para tirar as fotografias das estrelas
de cinema das paredes.
Estavam afundados em cadeirões de orelhas de pele na biblioteca do Clube Valhalla. Ambos davam calmamente baforadas em bons charutos. Timmy Ryan, de cachecol, olhava para as prateleiras de livros, para os painéis de carvalho, Remingtons emoldurados, tecto iluminado.
- Isto é o máximo, é mesmo - disse ele. - É sócio, Sr. Royce?
- vou ser, em breve - disse Charlie Royce. - Neste momento, tenho cartão de convidado até a minha proposta ser aceite. É só uma questão de tempo. Tenho o patrocínio de alguns pesos-pesados.
- É muito refinado - Ryan acenou a cabeça, recostando-se. Um verdadeiro clube de cavalheiros.
- Tens toda a razão - disse Royce. - Tem um belo grupo de tipos. Não há judeus. Banqueiros. Políticos. Homens importantes.
- Vai ser uma grande ajuda para um homem como o senhor, Sr. Royce - disse Ryan, soltando uma série de perfeitas bolas de fumo. - Está só a começar, por assim dizer. E não se sabe onde poderá chegar.
- Sim. Bem, era acerca de ti que eu queria falar. Timmy, vou ser promovido na Magna. Chefe de produção.
- Já ouvi falar disso, Sr. Royce. Não poderiam ter escolhido homem melhor para o cargo, digo a toda a gente.
- Obrigado. Timmy, que é que tens em mente? Tens sido uma grande ajuda para mim. Não preciso de te dizer isso, e gostaria de te ver subir comigo. Mas tu já és chefe da Polícia do estúdio e não há cargo mais importante no departamento. Já tiveste alguma experiência no cinema?
- Não, Sr. Royce. Nada de importante.
- Bem, podes dar alguma sugestão? Há alguma coisa que gostasses de fazer na Magna?
- Bem, é simpático da sua parte perguntar, Sr. Royce. Muito simpático mesmo. Tenho pensado seriamente no assunto. Para falar verdade, acho que o que eu realmente gostaria de fazer era de voltar para o meu velho país.
- Voltar para a Irlanda?
- Não entenda mal, Sr. Royce. Este país tem sido bom para mim. Muito bom mesmo. É mesmo uma terra de oportunidades, isso é indiscutível. Mas eu e a senhora estamos a ficar velhos. Os miúdos já
192
têm idade para deixar o ninho, e eu e a senhora temos falado em voltar e estabelecer-nos, por assim dizer.
- Reformares-te, Timmy? Não consigo imaginar-te a viver calmamente, a dar uns passeios. Ainda não estás preparado para a casa dos velhotes.
- Ora, não, Sr. Royce, isso está longe dos meus pensamentos. O que eu tinha em mente era abrir um estabelecimento lá. Talvez em Dublin. Abrir um estabelecimento ou comprar um a funcionar. Um bar é o que eu queria, Sr. Royce. Sempre me vi como dono de bar. Já fui, sabia? É uma bela vida. Estável. Não que não seja preciso trabalhar. Oh, trabalha-se, não tenha dúvidas. Muitas horas. Mas arranja-se uma clientela fixa e tem-se alguma coisa, está a ver a ideia?
- Um bar? - Royce olhou para ele, pensativamente. - Na Irlanda? Acho boa ideia, Timmy. Trabalhares para ti.
- Era isso, Sr. Royce - riu-se de repente. -Já me estou a ver... um cidadão respeitável. A descer a Wicklow Street num domingo de manhã. com galões brancos no fato e um chapéu de coco a cair sobre o olho. Como dizem os poetas: "Tudo está bem quando acaba bem."
- Sim, é uma boa ideia - repetiu Royce. - Por que é que não vais até lá, dás uma olhadela e descobres um estabelecimento que te agrade? Depois, diz-me. Eu ajudo-te com o dinheiro. Podes contar com isso.
- Oh, não tenho dúvida nenhuma, Sr. Royce - disse Timmy Ryan, a sorrir cordialmente. - Não tenho qualquer dúvida.
Vagueou pensativamente pelo escritório desarrumado. Os destroços da sua vida amontoavam-se à sua volta. Argumentos, resumos, fotografias, retratos, revistas, suplementos, entrevistas, programas, cartazes. Tentou separar as coisas de que gostava mais. Mas tudo o que ali estava tinha recordações para ele. Entregou-se ao passado. Sentou-se no chão, com o copo de gim a seu lado, e segurou as coisas nas mãos. Leu alguns parágrafos. Algumas legendas. Olhou para fotografias de acção, recordando a cena, a iluminação, os actores.
Por fim, parou de olhar para coisas individuais. Observou com os olhos muito abertos o mar à sua volta: estantes recortadas, manchas amarelas de pastas, recortes de jornais rasgados, fotografias com os cantos dobrados. Parecia um registo gasto do que tinha feito. Até perceber que a sua história não estava ali, mas sim em bobinas de filmes por todo o mundo. Isto era lixo. Os seus filmes eram os seus anais. Mesmo que mais ninguém conseguisse, ele conseguia ver no seu trabalho, do primeiro ao último, uma crónica do seu crescimento.
193
A sua mão a ficar mais segura. O gosto mais subtil. A audácia apareceu, inovação. Um desejo de explorar. De estender o seu talento, levá-lo aos limites e ousar.
Mas, agora, se fosse afastado da realização de filmes, excluído e rejeitado, o que é que marcaria o avanço dos seus dias? O que é que serviria de testemunho da sua dimensão? Flutuaria para sempre, à deriva, sem imagens fixadas para assinalar a sua passagem. A sua vida seria como aquela noite da sua festa de aniversário, na cama com Gladys, quando vira o mundo como fumo, flutuante e impalpável.
Levantou-se a tremer, bebeu o gim até ao fim. Pôs duas garrafas de gim num sobrescrito grosso. Depois, no último momento, juntou três saquinhos do pó branco mágico do Dr. Blick. Atravessou formalmente o escritório da entrada. Passou por uma lacrimosa Mildred Eljer, que lhe estendeu os braços que tremiam. Saiu cambaleante para a garagem, dizendo algumas frases de circunstância ao passar por quem o queria deter. Encontrou o LaSalle, afastou Leo, passou desajeitadamente para trás do volante.
Mac abriu o portão mesmo a tempo. Hebron passou a acelerar, curvado para a frente, a olhar atentamente através do pára-brisas. Fez a volta, com os pneus a chiar. Conduziu desabridamente pela estrada. "Como um louco!", disseram depois as pessoas.
A noite era uma montagem. Arvores a passar rapidamente. Pios agudos. Peões dispersos. Estrada obscura. Sol radioso. Gargalhadas estridentes. Travões a chiar. Uma floresta. Monte. Garganta. Precipício. Uma estrada sinuosa. Declive pronunciado. Luzes da cidade. Passar por uma chuvada e sair. Cartazes manchados. Escuridão. Um candeeiro de rua transformado em estrela. Uma estrela tornada faróis. Rodopio...
Parava ocasionalmente. Uma vez para encher o depósito de gasolina. Outra para comprar sanduíches e pô-las depois na mão de um surpreendido transeunte. Outra vez num monte, muito acima da cidade. Conseguia ver colares brilhantes e jóias faiscantes. Jóias brilhantes assentes sobre preto para ele escolher. Uma das suas garrafas de gim estava quase vazia. com mãos calmas deitou um pouco de pó branco no resto do gim. Pôs a mão no gargalo da garrafa. Agitou-a energicamente. Engoliu tudo. Cantou: Encontrei Uma Rosa no Jardim do Diabo.
Depois foi para a praia. Estava lúcido. Alerta. Sentiu que tinha passado a embriaguez e estava para lá dela. Estava num mundo cristalino, de percepção aguçada. Poderia continuar a beber o seu gim, se assim desejasse, mas nada poderia enevoar a sua visão ou diminuir as suas capacidades mentais. Via claramente, pensava perfeitamente.
194
Havia areia por debaixo dele, mar à sua frente, um céu com nuvens por cima. Tinha consciência de tudo isso e de mais.
Não era apenas areia. Não apenas uma substância sólida. Mas sim uma reunião de brilhantes grãos individuais, todos diferentes, cada um único. Uma praia de minúsculas pedras, uma espécie associada que trocava o seu calor e se movia em conjunto. Uma associação de formas perceptíveis similares, vivas umas para as outras e a compartilhar.
Assim era o oceano vivo. Respirava em ondas e ria em espuma. Podia rir, rir à socapa, dar gargalhadas, ou rugir como lhe apetecesse, conhecendo a sua própria força. Era um actor, um Lon Chaney, com um milhão de disfarces. Ninguém conhecia o mar, o verdadeiro mar. Escondia-se e mostrava uma nova máscara em cada alvorada.
Tal como vivia o céu. A mudar enquanto se tentava apanhá-lo quieto. Nuvens em movimento e luzes em movimento. A pulsar num horrível ritmo próprio. Subindo e descendo e, por vezes, a girar quando se estava deitado de costas na areia viva, a ouvir o mar vivo, e conhecendo o universo vacilante em todo o seu brilhante esplendor.
Sentou-se para beber novamente. Como é que se punha tudo isso em filme? Aquelas visões incompletas? Aqueles assustadores sonhos e ideias fantásticas? E os mistérios complicados da alma humana? As agitações confusas do coração humano? Como é que se apanhava e revelava a maravilha e a dor, o amor e a paixão, a glória e a morte? Em frio filme. Mostra-Io a preto e branco num pobre ecrã a duas dimensões para um estranho ver, assentir e dizer: "É isso."
Conduziu para casa devagar, satisfeito e vivo. Tinha mil ideias na cabeça. Novas técnicas para experimentar, velhas técnicas para polir e aperfeiçoar. Pensou que, com sorte, o seu melhor trabalho estava para vir. Filmes de verdade e revelação. Filmes de imaginação audaciosa e entendimento profundo. Era a isto que a sua vida o tinha estado a levar. Até essa noite, esse reconhecimento, essa determinação.
Subiu o caminho de cascalho. Desligou o motor e as luzes. Ficou sentado na escuridão, a ouvir a batida do seu coração. E, então, a porta de Paradiso abriu-se. Gladys parou com luz por detrás. Uma auréola radiante. Desceu os degraus a voar, com qualquer coisa branca e esvoaçante vestida. Abriu a porta com um puxão, atirou-se para dentro, apertou-o com força nos seus braços. Bochechas lacrimosas pressionaram-se contra as suas.
- Eli, eu fui tão... eu não sabia o que... Eles disseram que tu... Deus, estava tão preocupada! Ouvi dizer... no estúdio... toda a gente falava... telefonemas... e tu desapareceste, desapareceste simplesmente! Eli, onde é que estiveste, onde é que estiveste? Amo-te, amo-te, amo-te!
195
Acariciou-a, abraçou-a, acalmou-a. Acaricou o cabelo dela, abraçou-a muito. Beijou os olhos molhados. Sentiu o cheiro da sua carne jovem.
- Eu conto-te tudo - prometeu. - Tudo o que aconteceu. Tenho de falar, Glad. Tenho coisas para dizer. Sinto-me tão bem. Tenho uns planos... espera até ouvires! Tenho de começar a trabalhar. Tanto para fazer!
Saíram do carro. Caminharam devagar para casa. Braços em volta da cintura um do outro. A cabeça dela ligeiramente pousada no ombro dele. Ela não tinha corpete; ele sentia o toque da cintura, a saliência suave da anca quente.
- Onde é que estão todos? - perguntou, a olhar em volta.
- Na cozinha, Eli. A ouvir os Ipana Troubadours. O Leo apanhou o Kansas City Night Hawks, mas depois desapareceram.
-Vamos para ali - disse, puxando-a para a sala de estar. - Tenho tantas coisas para te contar.
- Tenho estado tão preocupada contigo, Eli. Não sabia onde poderias ter ido. Toda a gente disse que saíste precipitadamente.
- Fui despedido... ouviste dizer isso?
- Ouvi - disse, pesarosamente, pondo as costas da mão na cara dele. - Oh, Eli...
- Foi a melhor coisa que já me aconteceu - disse ele, animado.
- Tenho grandes planos. Bem, bem, que é que temos aqui? Que é que está no shaker?
- Só gim e lima e gelo. Tinha de beber alguma coisa enquanto esperava para saber o que te acontecera.
Ele serviu bebidas para os dois. Sentou-se pesadamente num cadeirão Ruhlmann, puxou-a para o seu colo. Contou-lhe a reunião que tivera no escritório com os novos donos.
- Não culpo a tia Fio - disse ele. - Ela fez o que achava melhor para o tio Marc. E Talvez seja melhor. Ele não está funcional.
- Mas, Eli, que é que vais fazer?
- A primeira coisa que vou fazer - ele riu - é sacar-lhes todo o dinheiro que conseguir. Tanto quanto percebo, tudo o que eles fizeram foi legal. Sórdido mas legal. Mas isso não significa que não possa ameaçá-los de levar toda a história para os jornais. Prejudicaria a Magna, e eles sabem disso. Muitos exibidores suspenderiam os pagamentos e marcações até saberem o que se está a passar. Portanto, eles vão pagar-me para me demitir discretamente e manter a boca fechada. Depois, com o dinheiro que conseguir deles... vão ser eles a pôr-me a funcionar, imagina!... quero fazer os meus próprios filmes. vou tentar arranjar distribuição através da MGM ou da United Artists.
- Os teus próprios filmes? Que tipo de filmes, Eli?
196
- Grandes filmes! Tenho estado a pensar nisso toda a noite. Sei exactamente o que quero fazer. Grandes histórias! Grandes estrelas! Olha, Glad, eu tenho contratos
pessoais com Margaret Gay, Nino Cavello e outros. Talvez os novos donos vão ter com eles e eles se recusem a trabalhar. Isso significa uma série de processos em
tribunal e, entretanto, não os poderia usar. Mas tenho um contrato pessoal contigo. O meu primeiro filme vai ser contigo no papel principal! Algo escrito especificamente
para ti. Algo que nos fará ricos e nos dê balanço para o nosso novo estúdio. Que é que achas, Glad?
Ela escorregou para fora do colo dele. Levou o copo vazio para o carrinho. Voltou-lhe as costas, manuseando desastradamente o shaker e os cubos de gelo. Algo nos
seus ombros curvados, na sua cabeça baixa, o perturbaram.
- Glad? - disse. - Não me respondeste. Não me disseste o que pensavas. Acerca de entrar no meu primeiro filme.
Ela voltou-se de repente. O copo caiu-lhe das mãos, partiu-se no chão. Ele baixou o olhar para os pedaços de vidro quebrado, olhou
para cima, para a cara dela. Estava igualmente magoada, fria e alterada.
- Glad - disse, calmamente -, que foi?
- Não posso - soluçou ela. - Não posso!
- Não podes? - repetiu ele, desconcertado. - Por que não? Não tens contrato com a Magna. O teu contrato é comigo.
- Não - disse ela, balançando a cabeça freneticamente, com o cabelo a esvoaçar. - Não, Eli. O contrato não vale nada. Não é legal. Eu não podia assiná-lo. Sou menor.
Tenho quinze anos. Tenho quinze anos de idade, Eli.
Ele ficou a olhar para ela.
Uma rapariguinha de expressão vazia, de pé, muito direita. Pés juntos e braços caídos ao longo do corpo. A recitar a sua lição memorizada.
- A minha mãe teria de assinar para ser legal. A minha mãe é a Bertha, não a Faith. A Bertha é a minha mãe verdadeira e Leo é meu irmão. O Norman, a Faith e o Stanley
são actores. Charlie Royce contratou-os. Para te enganar. Estás a ver o que eles fizeram? Agora, não podes ir para os jornais. Não podes fazer os teus próprios filmes.
Ou o que quer que seja. Ou, então, eles dirão tudo. Destruir-te-ão. Farão que a minha mãe, a minha mãe verdadeira, te acuse, e eles...
O grito dele ecoou pela casa. Os nós dos dedos dela voaram até à boca. Ele saltou da cadeira. Ela deu um pequeno passo para trás. Ele correu para ela, a cambalear.
Ela empalideceu e esperou. Estendeu as mãos. Virou as palmas para cima. Ele atirou-se para cima dela.
197
Caíram de costas. O carrinho voltou-se com um barulho de garrafas partidas, gelo e copos.
Ele lutou para a segurar debaixo de si. Pôs um joelho no peito dela. Debruçou-se, a olhar fixamente para os olhos fechados dela. As suas mãos cortadas e a sangrar
encontraram a garganta dela. Deslizaram amorosamente em volta. Começou a agarrar, a pressionar, a apertar. A levantar o pescoço e a cabeça do chão. A apertar para
impedir a passagem de sangue, de ar, sempre a erguer e baixar. Para acabar com aquilo. Fim.
Ela submeteu-se humildemente. Sem protestar. Sem luta. Antes deitada debilmente, em rendição envergonhada. Rendendo-se a ele. As pontas dos seus dedos subiram debilmente
até às mãos sufocadoras dele. Para tocar e acariciar. A sua boca abriu-se lentamente. A língua saiu devagar, um animal de uma caverna. As pálpebras subiram devagar.
Bolbos brancos salientavam-se, cegos. O seu corpo subiu em arcos de paroxismo, em convulsões tensas. Até apenas os ombros e os calcanhares tocarem no)chão.
E, então, aglomeraram-se todos em volta dele. A falar alto, a gritar, a amaldiçoar, a chorar. A
puxa-lo para trás. A tentar tirar os dedos dele. A empurrá-lo de
cima dela. Atacando-o. Dando-lhe pontapés. Arrastando-o pelos braços, pernas e cabelo. Até Stanley, a soluçar, a bater na cabeça e cara dele com os pequenos punhos.
A norte de Santa Bárbara a estrada costeira curvava ligeiramente, afastando-se do mar. Uma estreita estrada secundária ia da estrada até ao penhasco. Quase no final
desta azinhaga de cascalho, escurecida pela sombras das árvores, uns portões altos de ferro bloqueavam a passagem. A placa dizia HILLCREST. Do portão ornamentado,
uma cerca de arame alto estendia-se para a floresta, de ambos os lados. Do lado de fora do portão estava uma pequena guarita, ocupada por um único guarda.
Lá dentro, a estrada de uma só via descrevia uma curva através de lindas filas de abetos, pinheiros e carvalhos. Não havia vegetação rasteira. A estrada desembocava
num pátio pavimentado, em frente de um gracioso edifício de tijolos vermelhos, com três pisos. Colunas esbeltas suportavam um pórtico em bico por cima da porta simples.
As duas alas da casa tinham muitas janelas com cortinas. Estavam todas cobertas no exterior com rede de arame pintada de branco. Esta parte de Hillcrest estava voltada
para o interior.
Do lado do oceano, um terraço largo percorria toda a largura do edifício. Tinha pesadas floreiras com gerânios, amores-perfeitos, abróteas, margaridas. Viam-se vários
guarda-sóis, mesas e cadeiras de metal. As mesas estavam aparafusadas ao chão. As cadeiras
198
estavam presas com correntes às pernas das mesas. Em cada ponta do terraço, quando estava a ser usado, um homem novo de calças brancas e casaco ficava de pé, em
silêncio, com os braços cruzados, ou conversava cordialmente com os convidados.
Para lá do terraço, um extenso relvado, bem tratado, subia gradualmente até ao rochedo que dava para o mar. Uma corrente alta corria ao longo do rochedo e desaparecia
no meio das árvores, dos dois lados. Havia bancos de cimento maciços dispostos nesta larga extensão de relvado. Os convidados estavam sentados ou passeavam por ali.
Alguns iam directamente até à cerca e, com os dedos agarrados à corrente, ficavam a olhar para o mar.
O sol brilhava sobre Hillcrest, no seu terraço, nos seus relvados. Mas, normalmente, uma agradável brisa marítima evitava o desconforto dos convidados. Planeavam-se
entretenimentos exteriores todos os dias: aulas de pintura, uma aula sobre a natureza, uma sessão de costura, uma aula de Bíblia. Os convidados eram encorajados
a jogar brídege no terraço. De vez em quando, organizavam danças.
Nesta brilhante tarde, um pequeno grupo de convidados tinha-se reunido para ver a actividade num dos lados do relvado. Um homem novo, de camisa azul aberta no pescoço
e calças de flanela cinzentas, estava de pé, junto ao tripé de madeira. Tinham posto uma caixa de charutos no cimo do tripé, voltada para o lado contrário. Um tubo
de cartão de um rolo de papel higiénico tinha sido pregado a um dos lados da caixa, em posição horizontal. Do outro lado, uma manivela de um fonógrafo de corda estava
metida na caixa para rodar livremente. O jovem encarregue deste equipamento usava um boné de tweed com botões, voltado para trás, de forma a que a pala caísse sobre
o seu pescoço.
Perto dele, estava Eli Hebron. Usava um boné de linho branco, mas da forma convencional. A sua camisa de riscas coloridas diagonais tinha punhos brancos engomados
e colarinho Herbert Hoouer. Usava uma gravata de malha estreita, com um alfinete de pérola. Os seus calções eram de linho castanho, as meias até ao joelho. Os seus
sapatos castanhos de camurça tinham línguas compridas de franjas por cima dos atacadores. Tinha um pequeno megafone na mão.
Hebron estava a falar para um casal jovem que ouvia atentamente. A rapariga era magra, com um grande volume de cabelo escuro, que lhe caía até à cintura. Vestia
um fato de jardim completo em georgette branca. Tinha mangas largas e saia com roda. O atraente homem novo vestia um fato Norfolk, de sarja branca.
- Vamos fazer um plano geral - explicou Eli Hebron, cuidadosamente. - Comecem naquele banco que vos mostrei. Alice, tu começas. Estás a tentar fugir de Fred. Mas
não estás assustada. É
199
um jogo, um jogo romântico e inocente. Ele quer beijar-te, mas tu estás a fingir que és envergonhada. Compreendes? Assentiram ambos com ar sério.
- Fred, dá uma avanço à Alice de, digamos, três metros. Depois corres atrás dela. Tu consegues correr mais do que ela, mas não deves alcançá-la. Podes diminuir a
distância, se quiseres, mas nunca a apanhas, nunca chegas sequer a tocar-lhe.
- Estendo as mãos para ela, Sr. Hebron? - perguntou Fred. O supervisor confirmou aprovadoramente.
- Exactamente. Estendes os braços. Os teus dedos tentam alcançá-la. E ou estás a rir ou a sorrir. Vocês são amantes e isto é uma diversão agradável, uma forma de
passar uma tarde divertida.
- Também posso rir e sorrir, Sr. Hebron? - perguntou Alice. Gostaria muito.
- Claro que podes - disse Hebron. - Olhas para trás, por cima do ombro, a sorrir e a rir. Vamos tentar fazer isto de uma só vez. Agora, vai até ao banco e espera
pelo meu sinal.
Afastaram-se. Hebron voltou-se para o jovem que estava no tripé.
- Não te esqueças de que isto é um plano geral - avisou. - Faremos os planos médios e os grandes mais tarde. Neste take foca os dois. Move a tua câmara com eles.
Não balances para trás e para a frente. Quero-os aos dois em cada imagem.
Certifeca-te de que não cortas cabeças ou pés.
- Sim, Sr. Hebron - disse o jovem.
Voltou a caixa de charutos cuidadosamente no cimo do tripé. Inclinou-se para a frente, espreitou pelo tubo de cartão. Pôs as mãos levemente sobre a manivela.
- Apanhei-os! - disse. - Estou pronto, Sr. Hebron.
O supervisor olhou na direcção do banco onde o jovem casal esperava. Caminhou para o lado do tripé. Levou o megafone aos lábios.
- Acção! - gritou.
O jovem começou a rodar a manivela. Alice começou a correr pelo relvado, em direcção às
árvores. Fred esperou um momento e depois correu atrás dela.
Ela voltou-se, a sorrir por cima do ombro. Ele continuou a rir, estendendo a mão para a tocar, para a agarrar, para a segurar. A saia branca flutuava atrás dela.
O cabelo comprido esvoaçava para trás.
Voavam, a brilhar à luz do sol. Os seus risos ecoavam no ar. O céu azul porcelana curvava-se sobre eles. A relva verde-escura curvava-se sob os seus pés.
O jovem avançava ansiosamente, empenhado. Mas ela estava sempre além, escapando. As brilhantes figuras corriam, ligadas para sempre, ardendo numa imagem de desejo interminável.
O jovem que estava no tripé rodava a manivela regularmente, com o olho no tubo de cartão. Enquanto o casal corria, ele movia a caixa de charutos em volta para os seguir. Quando, por fim, desapareceram nas árvores, parou de rodar a manivela. Endireitou-se. Olhou para o supervisor, feliz.
- Apanhei tudo, Sr. Hebron! - disse.
Eli Hebron sorriu, pôs uma mão sobre o ombro dele.
- Óptimo - disse. - Era isso mesmo que eu queria. Edita.
Lawrence Sanders
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















