



Biblio VT




Em 1939, quando a Polônia capitula sob o jugo dos nazistas, os pais da jovem Alma Belasco enviam-na para casa dos tios, uma opulenta mansão em São Francisco. Ali Alma conhece Ichimei Fukuda, o filho do jardineiro japonês da casa. Entre os dois brota um romance ingênuo, mas os jovens amantes são forçados a se separar quando, na sequência do ataque a Pearl Harbor, Ichimei e a família — como milhares de outros nipo- americanos — são declarados inimigos e enviados para campos de internamento. Alma e Ichimei voltarão a se encontrar ao longo dos anos, mas o seu amor permanece condenado aos olhos do mundo.
Décadas mais tarde, Alma prepara-se para se despedir de uma vida emocionante. Instala-se na Lark House, um excêntrico lar de idosos, onde conhece Irina Bazili, jovem funcionária com um passado igualmente turbulento. Irina torna-se amiga do neto de Alma, Seth, e juntos vão descobrir a verdade sobre uma paixão extraordinária que perdurou por quase setenta anos.
Em O amante japonês, Isabel Allende volta ao estilo que tanto entusiasma seus leitores, relatando de forma soberba uma história de amor que sobrevive às rugas do tempo e atravessa gerações e continentes.
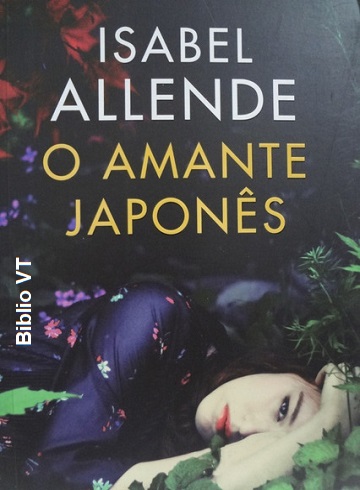
Irina Bazili começou a trabalhar na Lark House, nos arredores de Berkeley, em 2010. Acabara de fazer vinte e três anos e tinha poucas ilusões, pois andava, desde os quinze anos, a saltitar de emprego para emprego e entre uma cidade e outra. Estava longe de imaginar que iria encontrar a acomodação perfeita nesta residência para a terceira idade e que, nos três anos seguintes, chegaria a ser tão feliz como na sua infância, antes de o destino lhe ter virado a vida do avesso. A Lark House, fundada em meados de 1900 para acolher anciãos com baixos rendimentos, desde o início atraiu, por razões desconhecidas, intelectuais progressistas, esotéricos decididos e artistas de pouca importância. Com o passar do tempo, mudou em vários aspetos, mas continuava a cobrar prestações adequadas aos ganhos de cada residente, para, em teoria, fomentar uma certa diversidade social e racial. Na prática eram todos brancos e da classe média e a diversidade estava nas diferenças subtis entre livres-pensadores, seguidores de caminhos espirituais, ativistas sociais e ecológicos, niilistas e alguns dos poucos hippies que ainda estavam vivos na baía de São Francisco.
Na primeira entrevista, o diretor dessa comunidade, Hans Voigt, explicou a Irina que ela era demasiado jovem para um lugar de tanta responsabilidade, mas como tinha de preencher urgentemente uma vaga no departamento de administração e assistência, ela podia ser a substituta até conseguirem encontrar a pessoa adequada.
Irina pensou que o que Hans Voigt dizia dela poderia dizer-se dele: parecia um miúdo gorducho com calvície prematura, para quem a responsabilidade de administrar aquele lugar era excessiva. Com o tempo, a jovem verificaria que o aspeto de Voigt à distância e com má luminosidade enganava, pois na verdade tinha cinquenta e quatro anos e dera mostras de ser um excelente administrador. Irina garantiu-lhe que a sua falta de habilitações era compensada pela experiência no cuidado de anciãos na Moldávia, o seu país natal.
O sorriso tímido da candidata sensibilizou o diretor, que se esqueceu de lhe pedir uma carta de recomendação e passou de imediato a enumerar as obrigações do cargo; podiam ser resumidas em poucas palavras: facilitar a vida aos hóspedes dos segundo e terceiro níveis. Os do primeiro não faziam parte das incumbências dela, pois viviam de forma independente, como inquilinos de um edifício de apartamentos, nem os do quarto nível, designado de forma muito adequada Paraíso, porque esses aguardavam a sua passagem para o céu, passando a maior parte do tempo a dormir e não necessitavam do tipo de serviço que ela deveria oferecer. Irina deveria acompanhar os residentes às consultas de médicos, advogados e contabilistas, ajudá-los no preenchimento dos formulários da segurança social e dos impostos, acompanhá-los às compras e outras tarefas semelhantes. Com os do Paraíso, a única relação que teria seria organizar os seus funerais, para o que receberia instruções pormenorizadas de acordo com cada caso, disse-lhe Hans Voigt, porque os desejos dos moribundos nem sempre coincidem com os dos familiares. Entre os habitantes da Lark House havia diversas crenças e os funerais costumavam ser cerimônias ecumênicas algo complicadas.
Explicou-lhe que apenas o pessoal doméstico, de cuidados e enfermaria era obrigado a usar uniforme, embora existisse um código tácito de vestimenta para os restantes funcionários; o decoro e o bom gosto eram os critérios relativamente a esse assunto. Por exemplo, a t-shirt estampada com Malcolm X que Irina tinha vestida era inapropriada para a instituição, disse de forma enfática. Na verdade a efígie não era de Malcolm X, era de Che Guevara, mas ela não o corrigiu, porque supôs que Hans Voigt nunca tinha ouvido falar do guerrilheiro, que meio século após a sua epopeia continuava a ser venerado em Cuba e por uma mão-cheia de radicais de Berkeley, onde ela vivia. A t- shirt custara-lhe dois dólares numa loja de roupa em segunda mão e estava quase nova.
— Aqui é proibido fumar — advertiu-a o diretor.
— Eu não fumo nem bebo, senhor.
— É saudável? Isso é importante no contacto com os anciãos.
— Sim.
— Há algum aspeto sobre si de que eu deva ter conhecimento?
— Sou viciada em jogos de vídeo e romances de mistério. Do tipo, Tolkien, Neil Gaiman, Philip Pullman. Além disso, trabalho a lavar cães, mas isso não me ocupa muitas horas.
— Aquilo que faz nos seus tempos livres é consigo, menina, mas no seu trabalho não pode distrair-se.
— É evidente. Oiça, senhor, se me der uma oportunidade, verá que tenho muito jeito com as pessoas idosas. Não vai arrepender-se — disse a jovem com fingida altivez.
Assim que a entrevista terminou, o diretor mostrou-lhe as instalações que acolhiam duzentas e cinquenta pessoas com uma média de idade de oitenta e cinco anos. Lark House fora em tempos a magnífica propriedade de um magnata do chocolate, que a doou à cidade e deixou uma generosa quantia para a financiar.
Era composta pela mansão principal, um palacete pretensioso onde se situavam os escritórios, e as áreas comuns, a biblioteca, a cantina e as salas para as atividades, e uma série de agradáveis edifícios, revestidos com telhas de madeira, que se harmonizavam com o parque, aparentemente selvagem, mas na realidade bem cuidado por uma equipa de jardineiros. Os edifícios dos apartamentos independentes e os que albergavam os residentes dos segundo e terceiro níveis estavam ligados entre si por largos corredores cobertos, para se circular com cadeiras de rodas a salvo dos rigores do clima, e com paredes laterais de vidro, para se poder apreciar a natureza, o melhor bálsamo para as tristezas, em qualquer idade. O Paraíso, uma construção de cimento isolada, se não estivesse completamente coberto por heras trepadeiras, destoaria completamente do resto. A biblioteca e a sala de jogos podiam ser utilizadas a qualquer hora; o salão de beleza tinha horário flexível e nas salas de formação havia uma oferta de diversos ateliers, desde pintura até astrologia, para aqueles que ainda almejavam surpresas do futuro. Na Loja de Objetos Esquecidos, como rezava o letreiro sobre a porta, atendida por senhoras voluntárias, vendia-se roupa, móveis, joias e outros tesouros descartados pelos residentes ou deixados para trás pelos defuntos.
— Temos um excelente clube de cinema. Fazemos projeção de filmes três vezes por semana na biblioteca — disse Hans Voigt.
— De que gênero de filmes? — perguntou-lhe Irina, com a esperança de que fossem de vampiros e de ficção científica.
— A seleção é feita por um comité e dão preferência aos thrillers, adoram os de Tarantino. Aqui há um certo fascínio pela violência, mas não se assuste, percebem que é ficção e que os atores reaparecerão noutros filmes, bem e de boa saúde. Podemos dizer que é uma válvula de escape. Um número considerável dos nossos hóspedes fantasia com a ideia de assassinar alguém, geralmente da sua família.
— Eu também — replicou Irina sem vacilar.
Pensando que era uma brincadeira da jovem, Hans Voigt riu-se agradado; apreciava quase tanto o sentido de humor como a paciência entre os seus funcionários.
No parque de árvores antigas corriam esquilos e um número pouco habitual de veados. Hans Voigt explicou-lhe que as fêmeas pariam e criavam ali os pequenos cervos até que estes chegavam à idade de sobreviverem sozinhos, que a propriedade era também um santuário de pássaros, especialmente de cotovias, e daí a origem do nome: Lark House, casa das cotovias. Existiam várias câmaras colocadas estrategicamente de forma a vigiar os animais na natureza e, por acréscimo, os idosos que pudessem perder- se ou magoar-se; no entanto, a Lark House não possuía medidas de segurança. De dia as portas estavam abertas e apenas havia dois seguranças desarmados que faziam a ronda. Eram polícias reformados, um de setenta e outro de setenta e quatro anos, respetivamente; não era necessário mais porque nenhum meliante iria perder o seu tempo a assaltar velhos sem rendimentos. Cruzaram-se com duas mulheres em cadeira de rodas, com um grupo que transportava cavaletes e caixas de pintura para uma aula ao ar livre e com alguns hóspedes que passeavam cães tão estropiados como eles. A propriedade ficava na margem da baía e quando a maré subia era possível andar de caiaque, como faziam alguns dos residentes que não tinham ainda sido derrotados pelos achaques. «Era assim que eu gostava de viver», suspirou Irina, inspirando profundamente o doce aroma dos pinheiros e loureiros e comparando aquelas agradáveis instalações com as guaridas insalubres por onde ela deambulara desde os quinze anos.
— Por último, menina Bazili, devo mencionar-lhe a questão dos fantasmas, porque certamente será a primeira coisa que lhe dirá o pessoal haitiano.
— Não acredito em fantasmas, senhor Voigt.
— Felicito-a por isso. Eu também não. Os de Lark House são uma mulher com um vestido de tule cor-de-rosa e um menino de três anos. É Emily, a filha do magnata do chocolate. A pobre Emily morreu de tristeza quando o filho dela se afogou na piscina, no final dos anos quarenta. Depois dessa tragédia, o magnata abandonou a casa e criou a fundação.
— O menino afogou-se na piscina que me mostrou?
— Nessa mesma. E, que eu saiba, não morreu mais ninguém lá.
Irina muito em breve iria alterar a sua opinião sobre os fantasmas, ao descobrir que muitos dos idosos estavam permanentemente acompanhados pelos seus mortos; Emily e o filho dela não eram os únicos espíritos residentes.
Na manhã seguinte, Irina apresentou-se ao trabalho com as suas melhores calças de ganga e com uma t-shirt discreta. Verificou que o ambiente da Lark House era descontraído sem cair na negligência; assemelhava-se mais a uma residência universitária do que a um lar de idosos. A comida era parecida com a de um qualquer restaurante respeitável da Califórnia: dentro dos possíveis feita com alimentos de cultura biológica. O serviço era eficiente e o de cuidados e de enfermagem era tão amável quanto se pode esperar nestes casos. Aprendeu em poucos dias os nomes e as manias dos seus colegas e dos residentes a seu cargo. As frases em francês e em espanhol que conseguiu memorizar serviram-lhe para ganhar o apreço do pessoal, proveniente quase em exclusivo do México, Guatemala e Haiti. O salário não era muito alto, tendo em conta o trabalho duro que desempenhavam, porém poucos faziam cara feia. «É preciso mimar as avozinhas, mas sem lhes faltar ao respeito. O mesmo se aplica aos avozinhos, mas a eles não se lhes pode dar muita confiança, porque ficam tolos», recomendou-lhe Lupita Farías, uma mulher baixinha com cara de escultura olmeca, chefe da equipa de limpeza.
Como estava há trinta e dois anos na Lark House e tinha acesso aos quartos, Lupita conhecia intimamente cada ocupante, sabia como eram as suas vidas, adivinhava os seus mal-estares e apoiava-os nas suas tristezas.
— Fica atenta às depressões, Irina. Aqui são muito frequentes. Se te aperceberes de que alguém está isolado, anda muito triste, fica na cama sem motivos ou deixa de comer, vens imediatamente avisar-me, percebeste?
— O que fazes nesses casos, Lupita?
— Depende. Acaricio-os, agradecem sempre, pois os velhos não têm quem lhes toque, e vicio-os numa série de televisão; ninguém quer morrer antes de ver o final. Alguns sentem-se aliviados a rezar, mas aqui há muito ateus e esses não rezam. O mais importante é não os deixar sozinhos. Se eu não estiver disponível, avisas a Cathy. Ela sabe o que deve fazer.
A doutora Catherine Hope, residente do segundo nível, fora a primeira pessoa a dar as boas-vindas a Irina em nome da comunidade. Com sessenta e oito anos, era a mais nova dos residentes. Desde que ficara numa cadeira de rodas que optara por ter a assistência e a companhia que a Lark House lhe proporcionava, e já ali residia há dois anos. Nesse espaço de tempo tornara-se na alma da instituição.
— As pessoas idosas são as mais divertidas do mundo. Já viveram muito, dizem o que lhes vem à cabeça e estão a borrifar-se para o que os outros pensam. Aqui nunca te vais aborrecer — disse a Irina. — Os nossos residentes são pessoas educadas e, se estiverem de boa saúde, continuam a aprender e a experimentar. Nessa comunidade existem estímulos e pode-se evitar o pior flagelo da velhice: a solidão.
Irina conhecia o espírito progressista das pessoas da Lark House, porque fora notícia em diversas ocasiões. Existia uma lista de espera de vários anos para se ser admitido e seria ainda mais longa se muitos dos candidatos não tivessem falecido antes de chegar a vez deles.
Aqueles idosos eram a prova contundente de que a idade, com as suas limitações, não impede as pessoas de se divertirem ou de participarem no bulício da existência. Vários deles, membros ativos do movimento Anciãos pela Paz, reservavam as sextas- feiras pela manhã para protestar nas ruas contra as aberrações e injustiças do mundo, especialmente as do império norte-americano, pelo qual se sentiam responsáveis. Os ativistas, entre os quais havia uma dama de cento e um anos, marcavam encontro numa esquina da praça do bairro em frente à esquadra da polícia, com as suas bengalas, andarilhos e cadeiras de rodas, empunhando cartazes contra a guerra e o aquecimento global, enquanto o público os apoiava dentro dos carros com buzinadelas e assinando as petições que os furiosos bisavós lhes punham à frente. Os revoltosos apareceram por diversas vezes na televisão, enquanto a polícia, fazendo uma figura ridícula, tentava dispersá-los com ameaças de gás lacrimogêneo, que nunca se concretizavam. Emocionado, Hans Voigt mostrara a Irina uma placa colocada no parque em honra de um músico de noventa e sete anos, que morrera em 2006 preparado para a luta e num dia de sol, depois de sofrer um derrame cerebral fulminante enquanto protestava contra a guerra do Iraque.
Irina crescera numa aldeia da Moldávia habitada por velhos e crianças. Todos tinham falta de dentes, os primeiros porque os tinham perdido com o uso e os segundos porque estavam a mudar os de leite. Pensou nos seus avós e, como tantas vezes nos últimos anos, arrependeu-se de os ter abandonado. Na Lark House era-lhe dada a oportunidade de dar a outros o que não pudera dar-lhes a eles e, com esse propósito em mente, preparou-se para cuidar das pessoas a seu cargo. Rapidamente conseguiu a confiança de todos e inclusive de alguns residentes do primeiro nível, os independentes.
Alma Belasco despertou-lhe a atenção desde o primeiro instante. Destacava-se das outras mulheres por causa do seu porte aristocrático e do campo magnético que a isolava do resto dos mortais. Lupita Farías garantia que Belasco não encaixava na Lark House, que ia ficar por muito pouco tempo e que a qualquer momento a viria buscar o mesmo motorista que a trouxera ali num Mercedes Benz. Mas os meses foram passando sem que tal acontecesse. Irina limitava-se a observar Alma Belasco de longe, porque Hans Voigt lhe ordenara que se concentrasse nas suas obrigações para com as pessoas dos segundo e terceiro níveis, sem se distrair com os independentes. Ela já estava bastante ocupada a atender os seus clientes — não se chamavam pacientes — e a aprender os pormenores do seu novo emprego. Parte da sua formação consistia em estudar os vídeos dos funerais recentes: uma judia budista e um agnóstico arrependido. Por seu lado, Alma Belasco não teria prestado atenção a Irina, se as circunstâncias não a tivessem convertido em pouco tempo na pessoa mais polêmica da comunidade.
O francês
Na Lark House, onde havia uma deprimente maioria de mulheres, Jacques Devine era considerado uma estrela, o único galã entre os vinte e oito homens do estabelecimento. Chamavam-lhe o francês, não porque tivesse nascido em França, mas devido à sua requintada urbanidade — deixava passar primeiro as damas, afastava-lhes a cadeira e nunca andava de braguilha aberta —, e além disso podia dançar, apesar de ter as costas escoradas. Andava direito aos noventa anos graças a varetas, parafusos e porcas na coluna; restava-lhe ainda algum do seu cabelo encaracolado e sabia jogar às cartas, fazendo batota com desenvoltura. Tinha um corpo saudável, excetuando a artrite habitual, a tensão alta e a surdez evidente dos anos invernais, e estava bastante lúcido, embora não o suficiente para se lembrar se tinha almoçado; por isso, estava no segundo nível, onde lhe era prestada a assistência necessária. Chegara à Lark House com a sua terceira esposa, que não conseguiu viver ali mais do que três semanas até ser atropelada na rua por um ciclista distraído. O dia do francês começava cedo: tomava banho, vestia-se e fazia a barba com a ajuda de Jean Daniel, um cuidador haitiano, atravessava o estacionamento apoiado na sua bengala, prestando muita atenção aos ciclistas, e ia ao Starbucks da esquina tomar o primeiro dos seus cinco cafés do dia.
Divorciara-se uma vez, enviuvara duas e nunca lhe tinham faltado apaixonadas que seduzia com truques de ilusionista. Certo dia, há pouco tempo, calculara que se tinha apaixonado sessenta e sete vezes; registou-o no seu caderno de notas para não se esquecer do número, visto que começava a esquecer-se dos rostos e dos nomes dessas felizardas. Tinha vários filhos legítimos e um ilegítimo de uma mulher cujo nome não recordava, além de sobrinhos, todos uns ingratos, que contavam os dias para o verem partir para o outro mundo para herdarem os seus bens. Corria o rumor de que possuía uma pequena fortuna amealhada com muito arrojo e poucos escrúpulos. Ele mesmo confessava, sem sombra de arrependimento, que passara algum tempo na prisão, de onde trouxera tatuagens de embusteiro nos braços, que a flacidez, as manchas e as rugas tinham apagado, e que ganhara somas avultadas a especular com as poupanças dos guardas.
Apesar das atenções de várias senhoras da Lark House, que lhe deixavam pouco espaço para entusiasmos amorosos, Jacques Devine não resistiu aos encantos de Irina Bazili desde o primeiro dia em que a viu deambular com o seu quadrinho de notas e o seu traseiro arrebitado. A rapariga não tinha nem uma gota de sangue caribenho, e por isso aquele traseiro de mulata era um prodígio da natureza, garantia o homem depois de beber o primeiro Martini, surpreendido por mais ninguém ter notado. Passara os seus melhores anos a fazer negócios entre Porto Rico e a Venezuela, onde ganhara o gosto de apreciar as mulheres por trás. Aquelas nádegas épicas tinham-lhe ficado gravadas para sempre na retina; sonhava com elas. Via-as por todo o lado, inclusive num sítio tão pouco propício como a Lark House e numa mulher tão magricela como Irina. A sua vida de ancião, sem projetos nem ambições, de repente ficou preenchida por aquele amor tardio e absoluto, o que alterou a paz das suas rotinas. Pouco tempo depois de a ter conhecido, demonstrou-lhe o seu entusiasmo oferecendo-lhe um escaravelho de topázio e brilhantes, uma das poucas joias das suas defuntas esposas que conseguira salvar da rapinagem dos descendentes.
Irina não quis aceitá-lo, mas a recusa dela fez com que a tensão arterial do apaixonado subisse até às nuvens e ela própria teve de o acompanhar durante a noite inteira no serviço de urgências do hospital. Com um saco de soro espetado na veia, Jacques Devine, entre suspiros e repreensões, confessou-lhe o seu sentimento desinteressado e platônico. Apenas desejava a companhia dela, alegrar a vista com a sua juventude e beleza, ouvir a sua voz diáfana, imaginar que ela também o amava, ainda que fosse como uma filha. Podia também gostar dele como de um bisavô.
No dia seguinte à tarde, de regresso à Lark House, enquanto Jacques Devine degustava o seu Martini ritual, Irina, com os olhos vermelhos e olheiras azuis, causados pela noite em claro, contou o imbróglio a Lupita Farías.
— Isso não é novidade nenhuma, miúda. Estamos sempre a surpreender os residentes em camas alheias, e não são só os avozinhos, também as senhoras. À falta de homens, as pobres têm de se contentar com o que há. Toda a gente precisa de companhia.
— No caso do senhor Devine trata-se de um amor platônico, Lupita.
— Não sei o que seja isso, mas se for o que imagino, não acredites. O francês tem um implante na pila, uma salsicha de plástico que incha com uma bombinha disfarçada nos tomates.
— Que estás para aí a dizer, Lupita! — riu Irina.
— Isso mesmo que tu estás a ouvir. Juro. Eu não vi, mas o francês fez uma demonstração ao Jean Daniel. É impressionante.
A boa mulher acrescentou, para aconselhar Irina, aquilo que tinha observado em muitos anos a trabalhar na Lark House: a idade por si só não faz ninguém melhor nem mais sábio, simplesmente evidencia aquilo que as pessoas sempre foram.
— Sabes, um miserável não se torna generoso com os anos, Irina, torna-se mais miserável. Certamente Devine foi sempre um libertino e por isso agora é um velho fresco
— concluiu.
Como não podia devolver o alfinete do escaravelho ao seu pretendente, Irina levou-o a Hans Voigt, que a informou acerca da proibição absoluta de aceitar gorjetas e prendas. A regra não se aplicava aos bens dos moribundos recebidos pela Lark House, nem aos donativos feitos por baixo da mesa pelos familiares para colocar um parente no topo da lista de candidatos a entrar, mas disso não se falou. O diretor recebeu o horrendo bicho de topázio para o devolver ao seu legítimo dono, como disse, e entretanto enfiou-o numa gaveta do seu escritório.
Uma semana mais tarde, Jacques Devine entregou a Irina cento e sessenta dólares em notas de vinte e desta vez ela dirigiu-se diretamente a Lupita Farías, que era partidária das soluções simples: devolveu-os à caixa de cigarros onde o galã guardava o dinheiro, certa de que ele não se recordaria de o ter retirado de lá nem de quanto tinha. Deste modo Irina solucionou o problema das gorjetas, mas não o das apaixonadas missivas de Jacques Devine, nem o dos seus convites para jantar em restaurantes caros, nem o do seu rosário de pretextos para a chamar ao quarto e para lhe contar factos exagerados que nunca tinham acontecido, e nem finalmente o da proposta matrimonial. O francês, tão ágil no vício da sedução, tinha regressado à adolescência, com a sua dolorosa carga de timidez, e em vez de se declarar pessoalmente deu-lhe uma carta perfeitamente legível, porque foi escrita no seu computador. O envelope continha duas páginas repletas de rodeios, metáforas e repetições, que podiam ser resumidas em poucos pontos: Irina renovara a sua energia e o seu desejo de viver; podia oferecer-lhe uma vida confortável, por exemplo na Florida, onde havia sempre sol, e quando enviuvasse ficaria segura em termos econômicos.
A sua proposta, vista de qualquer dos ângulos, deixava-a sempre a ganhar, escreveu, pois a diferença de idade era uma vantagem a favor dela. A assinatura era um gatafunho. A jovem absteve-se de informar o diretor, por temer ver-se na rua, e deixou a carta sem resposta com a esperança de que tal proposta se eclipsasse da memória do noivo, só que desta vez a memória a curto prazo de Jacques Devine funcionou. Rejuvenescido pela paixão, continuou a mandar-lhe missivas cada vez mais urgentes, enquanto ela procurava evitá-lo, rezando a santa Parescheva para que o ancião desviasse a sua atenção na direção da dúzia de damas octogenárias que o perseguiam.
A situação foi-se agravando e acabaria por ser impossível de disfarçar caso um acontecimento inesperado não tivesse posto fim a Jacques Devine e, por arrasto, ao dilema de Irina. Nessa semana o francês tinha saído duas vezes de táxi sem dar explicações, uma coisa pouco habitual no caso dele, porque se perdia na rua. Acompanhá-lo fazia parte dos deveres de Irina, mas ele saiu às escondidas, sem dizer uma palavra sobre as suas intenções. A segunda viagem deve ter posto à prova a sua resistência, porque regressou à Lark House tão perdido e fragilizado que o motorista teve de o tirar do táxi quase ao colo e entregá-lo como uma encomenda à recepcionista.
— O que é que lhe aconteceu, senhor Devine? — perguntou a mulher.
— Não sei, foi como se estivesse fora de mim — respondeu.
Depois de o examinar e de verificar que a tensão arterial estava normal, o médico assistente considerou que não havia necessidade de o mandar outra vez ao hospital e deu ordem para que descansasse e ficasse na cama durante dois dias, e informou ainda Hans Voigt de que Jacques Devine já não estava em condições mentais para continuar no segundo nível, chegara a hora de o transferir para o terceiro, onde dispunha de assistência permanente.
No dia seguinte, o diretor decidiu comunicar a mudança a Devine, uma tarefa que o deixava sempre com um sabor amargo na boca, porque ninguém ignorava que o terceiro nível era a antessala do paraíso, o andar sem retorno. Foi, porém, interrompido por Jean Daniel, o funcionário haitiano, que apareceu de rosto transfigurado com a notícia de que tinha encontrado Jacques Devine teso e frio quando fora ajudá-lo a vestir- se. O médico propôs que fosse feita uma autópsia, já que quando o examinara no dia anterior não notara nada que justificasse aquela desagradável surpresa, mas Hans Voigt opôs-se; que necessidade havia de lançar suspeitas sobre algo tão previsível como o falecimento de uma pessoa de noventa anos? Uma autópsia podia manchar a respeitabilidade intocável da Lark House. Ao saber o que acontecera, Irina chorou durante um bom bocado, porque apesar de tudo acabara por sentir carinho por aquele patético Romeu; no entanto, não conseguiu evitar um certo alívio, por se ver livre dele, e vergonha, por se sentir aliviada.
O falecimento do francês uniu o clube das suas admiradoras num único luto de viúva, embora lhes tenha faltado a consolação de organizar uma cerimônia, pois os parentes do defunto optaram pelo recurso expedito de incinerar os restos o mais rápido possível.
O homem teria sido rapidamente esquecido, inclusive pelas enamoradas, se a família não tivesse desencadeado uma tempestade. Pouco depois de terem sido espalhadas as cinzas sem alaridos emocionais, os presumíveis herdeiros verificaram que todos os bens do ancião tinham sido legados a uma tal de Irina Bazili. De acordo com uma breve nota anexa ao testamento, Irina dera-lhe ternura na última etapa da sua vida e por isso merecia ser sua herdeira.
O advogado de Jacques Devine explicou que o seu cliente lhe dera por telefone as indicações de alterações no testamento e depois apresentara-se duas vezes no seu escritório, primeiro para rever os papéis e, em seguida, para os assinar perante o notário, e que se tinha mostrado seguro do que queria. Os descendentes acusaram a administração da Lark House de negligência, perante o estado mental do ancião, e aquela Irina Bazili de o roubar com aleivosia. Deram a conhecer a sua intenção de impugnar o testamento, denunciar o advogado como incapaz, o notário como cúmplice e a Lark House por danos e prejuízos. Hans Voigt recebeu o tropel de parentes frustrados com a calma e a cortesia adquiridas ao longo de muitos anos a dirigir a instituição, embora por dentro fervesse de raiva. Não esperava semelhante embuste de Irina Bazili, que julgava incapaz de matar uma mosca, mas estamos sempre a aprender, não podemos confiar em ninguém. Num aparte perguntou ao advogado qual a quantia de dinheiro e descobriu que afinal o que existia eram umas terras secas no Novo México e ações de várias companhias, cujo valor não estava ainda avaliado. A soma em dinheiro vivo era insignificante.
O diretor pediu vinte e quatro horas para negociar uma saída menos dispendiosa do que lutar na justiça e convocou perentoriamente Irina. Pensava gerir o imbróglio com luvas de pelica. Não era conveniente para ele desentender-se com aquela rameira, mas quando se viu diante dela perdeu as estribeiras.
— Muito gostava eu de saber como raios conseguiste enganar o velho!— repreendeu-a.
— Está a falar de quem, senhor Voigt?
— De quem havia de ser?! Do francês, evidentemente! Como é que isto pôde acontecer debaixo do meu próprio nariz?
— Desculpe, não lhe disse nada para não o preocupar, pensei que o assunto se iria resolver por si só.
— Ah, sim, e resolveu-se muito bem! Que explicação vou eu dar à família?
— Não há nenhuma razão para o saberem, senhor Voigt. Os anciãos enamoram- se, o senhor sabe disso, mas as pessoas de fora sentem-se chocadas.
— Dormiste com o Devine?
— Não! Como pode pensar uma coisa dessas?
— Então não percebo nada. Porque é que ele te nomeou sua herdeira universal?
— O quê?
Abismado, Hans Voigt percebeu que Irina Bazili não tinha conhecimento das intenções do homem e que ela era a mais surpreendida com o testamento. Ia avisá-la de que seria muito difícil ficar com algum dinheiro, porque os herdeiros legítimos lutariam até ao último centavo, mas ela anunciou à queima-roupa que não queria nada, pois seria um dinheiro mal ganho e traria má sorte. Jacques Devine tinha perdido o juízo, disse, como qualquer pessoa na Lark House podia testemunhar; o melhor seria resolver as coisas sem conflitos. Um diagnóstico de demência senil passado pelo médico seria suficiente. Irina teve de repetir tudo para que o desconcertado diretor compreendesse.
De pouco serviram as precauções para manter a situação em segredo. De um dia para o outro todos tiveram conhecimento do que acontecera e Irina Bazili passou a ser a pessoa mais polêmica da comunidade, admirada pelos residentes e criticada pelos funcionários latinos e haitianos, para quem recusar dinheiro era pecado. «Não cuspas para o ar, que pode cair-te em cima», sentenciou Lupita Farías, e Irina não conseguiu encontrar uma tradução para romeno deste criptográfico provérbio. O diretor, impressionado com o desprendimento desta modesta imigrante de um país difícil de
localizar no mapa, passou-a a efetiva, com quarenta horas semanais e com um ordenado superior ao da antecessora; além disso, convenceu os descendentes de Jacques Devine a darem a Irina dois mil dólares como forma de agradecimento.
Irina não chegou a receber a soma prometida, mas como era incapaz de a imaginar, rapidamente essa ideia lhe saiu da cabeça.
Alma Belasco
A fantástica herança de Jacques Devine fez com que Alma Belasco se fixasse em Irina e, logo que a tempestade de comentários amainou, chamou-a. Recebeu-a no seu domicílio espartano, empertigada com uma dignidade imperial, sentada num pequeno cadeirão cor de damasco, com Neko, o seu gato tigrado, no regaço.
— Preciso de uma secretária. Quero que trabalhes para mim — propôs-lhe.
Na verdade não era uma proposta, era uma ordem. Como Alma raras vezes a cumprimentava quando se cruzavam no corredor, Irina foi apanhada de surpresa. Além disso, como os residentes da comunidade viviam modestamente das suas pensões, que às vezes eram complementadas com a ajuda de familiares, muitos tinham de se cingir unicamente aos serviços disponíveis, porque até uma refeição extra podia arruinar-lhes o exíguo orçamento; ninguém podia dar-se ao luxo de contratar uma assistente pessoal. O espectro da pobreza, tal como o da solidão, rondava sempre os velhos. Irina explicou-lhe que tinha pouco tempo disponível, pois após o horário dela na Lark House trabalhava numa cafetaria e, além disso, ainda dava banho a cães ao domicílio.
— Conta-me lá essa história dos cães — disse Alma.
— Tenho um sócio que se chama Tim e é meu vizinho em Berkeley. Tim tem uma carrinha onde montou duas banheiras e uma mangueira comprida; vamos a casa dos cães, quer dizer, dos donos dos cães, ligamos a mangueira e damos banho aos clientes, ou seja, aos cães, no pátio ou na rua. Também lhes limpamos as orelhas e cortamos as unhas.
— Aos cães? — perguntou Alma, disfarçando o sorriso.
— Sim.
— Quanto ganhas à hora?
— Vinte e cinco dólares por cão, mas divido-os com Tim, isto é, fico com doze e meio.
— Vou contratar-te à experiência, treze dólares por hora, durante três meses. Se ficar satisfeita com o teu trabalho, aumento-te para quinze. Trabalharás comigo todas as tardes, depois de terminares o teu serviço na Lark House, para começar duas horas por dia. O horário pode ser flexível. Dependendo das minhas necessidades e da tua disponibilidade. Estamos combinadas?
— Posso deixar a cafetaria, senhora Belasco, mas não posso deixar os cães que já me conhecem e esperam pela minha visita.
Assim ficou acordado e desse modo se iniciou uma sociedade que com o tempo se iria transformar em amizade.
Nas primeiras semanas do seu novo emprego, Irina andava em bicos de pés e meio perdida, porque Alma Belasco revelou ser autoritária no tratamento, exigente nos pormenores e imprecisa nas suas instruções, mas rapidamente perdeu o medo e tornou- se indispensável, como chegara a ser na Lark House. Irina observava Alma com o fascínio de um zoólogo por uma salamandra imortal. A mulher não era parecida com ninguém que ela alguma vez tivesse conhecido e muito menos com nenhum dos anciãos dos segundo e terceiro níveis. Era ciosa da sua independência, despojada de sentimentalismos e apego às coisas materiais, parecia ter-se libertado dos seus afetos, exceto em relação ao neto Seth, e sentia-se tão segura de si própria que não procurava apoio em Deus nem na açucarada beatitude de alguns hóspedes da Lark House, que se afirmavam espirituais e andavam a apregoar métodos para alcançar um estado superior de consciência.
Alma tinha os pés bem assentes na terra. Irina calculou que a altivez dela fosse uma defesa contra a curiosidade alheia e a simplicidade, uma forma de elegância que poucas mulheres podiam imitar sem parecer descuidadas. Usava o cabelo branco e austero, que penteava com os dedos, cortado em madeixas desalinhadas. As suas únicas cedências à vaidade eram pintar os lábios de vermelho e usar uma fragância masculina com cheiro a bergamota e laranja; à passagem dela aquele aroma fresco disfarçava o ténue odor a desinfetante, velhice e, ocasionalmente, a marijuana da Lark House. Possuía um nariz grande, uma boca orgulhosa, ossos compridos e mãos gastas de mulher a dias; tinha olhos castanhos, espessas sobrancelhas escuras e olheiras violáceas, que lhe davam um aspeto insone que os óculos de armação grossa não ocultavam. A sua aura enigmática impunha distância; nenhum dos funcionários se dirigia a ela no tom paternalista que costumavam usar com os outros residentes e ninguém podia gabar-se de a conhecer, até Irina ter conseguido penetrar na sua intimidade.
Alma vivia com o seu gato num apartamento com o mínimo indispensável de móveis e objetos pessoais, e deslocava-se no automóvel mais pequeno do mercado, sem o mínimo respeito pelas regras de trânsito, que considerava opcionais (um dos deveres de Irina era pagar as multas). Habitualmente era cordial e educada, mas os únicos amigos que fizera em Lark House eram Victor, o jardineiro com quem passava longas horas a trabalhar nos canteiros suspensos onde plantavam vegetais e flores, e a doutora Catherine Hope, a quem simplesmente não conseguiu resistir. Alugara um estúdio num armazém dividido por tabiques de madeira, que partilhava com outros artesãos.
Pintava em seda, tal como fizera durante sessenta anos, no entanto agora já não o fazia por inspiração artística, apenas para não morrer de tédio antes do tempo. Passava várias horas por semana no seu atelier na companhia de Kirsten, a sua ajudante, a quem a síndroma de Down não impedia de cumprir as suas funções. Kirsten conhecia as combinações de cores e os utensílios que Alma utilizava, preparava os tecidos, mantinha o atelier arrumado e lavava os pincéis. As duas mulheres trabalhavam em harmonia sem necessidade de palavras, adivinhando as intenções uma da outra. Quando começaram a tremer as mãos a Alma e ela começou a ter pouca precisão no pulso, contratou dois estudantes para lhe copiarem para a seda os desenhos que fazia no papel, enquanto a fiel assistente os vigiava com suspicácia de carcereiro. Kirsten era a única pessoa que tinha permissão para cumprimentar Alma com abraços ou interrompê-la com beijos e lambidelas na cara quando sentia o impulso da ternura.
Sem se ter empenhado seriamente nisso, Alma alcançara fama com os seus quimonos, túnicas, lenços e echarpes com desenhos originais e cores ousadas. Ela própria não os usava, vestia calças largas e blusas de linho em preto, branco e cinzento. Trapos de indigente, segundo Lupita Farías, que não suspeitava nem de longe o preço daqueles trapos. Os tecidos pintados vendiam-se em galerias de arte a preços exorbitantes, que eram destinados à Fundação Belasco. As coleções eram inspiradas nas suas viagens pelo mundo — animais do Serengeti, cerâmica otomana, escrita etíope, hieróglifos incas, baixos-relevos gregos — e ela renovava-as sempre que eram imitadas pela concorrência. Tinha-se recusado a vender a sua marca e a colaborar com desenhadores de moda; cada um dos seus originais era produzido em número limitado, sob a sua rigorosa supervisão, e todas as peças eram assinadas por ela. No seu apogeu chegou a ter meia centena de pessoas a trabalhar para ela e coordenava uma produção bastante significativa num grande espaço industrial a sul da rua Market em São Francisco.
Nunca fizera publicidade, por nunca ter sentido a necessidade de vender algo para ganhar a vida. No entanto, o seu nome transformara-se numa marca de exclusividade e excelência. Quando fez setenta anos, decidiu reduzir a sua produção, com grande prejuízo para a Fundação Belasco, que contava com aqueles fundos.
Criada em 1955, pelo sogro, o mítico Isaac Belasco, a fundação dedicava-se a criar zonas verdes em bairros problemáticos. Essa iniciativa, cuja finalidade fora primeiro que tudo estética, ecológica e de divertimento, produzira benefícios sociais imprevisíveis. Onde aparecia um jardim, um parque ou uma praça, diminuía a delinquência, porque os mesmos bandidos e drogados, que antes estavam dispostos a matar-se uns aos outros por uma dose de heroína ou trinta centímetros quadrados de território, juntavam-se para cuidar daquele cantinho da cidade que lhes pertencia. Em alguns tinham sido pintados murais, noutros tinham-se construído esculturas e equipamentos infantis, em todos eles se reuniam artistas e músicos para entreter o público. A Fundação Belasco tinha sido dirigida em todas as gerações pelo primeiro descendente masculino da família, uma regra tácita que a libertação feminina não alterou, porque nenhuma das filhas se deu ao incômodo de a questionar; um dia seria a vez de Seth, o bisneto do fundador. Ele não desejava de maneira nenhuma aquela honra, mas fazia parte da sua herança.
Alma Belasco estava tão habituada a mandar e a impor distância e Irina tão habituada a receber ordens e a ser discreta que, sem a presença de Seth Belasco, o neto predileto de Alma que se empenhou em derrubar as barreiras entre elas, nunca teriam chegado a nutrir estima uma pela outra. Seth conheceu Irina Bazili pouco tempo depois de a sua avó se ter instalado na Lark House e sentira-se de imediato atraído pela jovem, embora não soubesse explicar por quê.
Apesar do nome, ela não se assemelhava àquelas beldades europeias de Leste que na última década haviam tomado de assalto os clubes masculinos e as agências de modelos: nada de ossos de gazela nem maçãs de mongol nem de languidez de odalisca; Irina podia ser confundida ao longe com um rapazinho descuidado. Era tão transparente e com uma tendência tão vincada para a invisibilidade que era necessário estar-se muito atento para notar a sua presença. A sua roupa larga e o gorro de lã enterrado até às sobrancelhas não contribuíam para fazê-la sobressair. Seth foi seduzido pela inteligência dela, pelo rosto de duende em forma de coração, com uma covinha profunda no queixo, os olhos esverdeados assustadiços, o pescoço fino, que acentuava o seu ar de vulnerabilidade, e a pele tão branca que brilhava na escuridão. Até mesmo as mãos infantis com as unhas roídas o comoviam. Sentia um desejo desconhecido de a proteger e encher de atenções, era um sentimento novo e inquietante. Irina usava tantas peças sobrepostas de roupa que era completamente impossível avaliar o resto da sua pessoa, mas alguns meses mais tarde, quando o verão a obrigou a abandonar os coletes que a escondiam, revelou ser bem proporcionada e atrativa, apesar do estilo descuidado. O gorro de lã foi substituído por lenços de cigana, que não lhe tapavam o cabelo por completo, o que fazia com que algumas madeixas crespas de um louro quase albino lhe emoldurassem o rosto. A princípio a avó foi o único vínculo que Seth conseguiu estabelecer com a rapariga, já que nenhum dos seus métodos habituais surtiu efeito, mas depois descobriu o poder irresistível da escrita. Contou-lhe que com a ajuda da avó estava a recriar um século e meio da história dos Belasco e de São Francisco, desde a sua fundação até ao presente. Desde os quinze anos que tinha aquele romance desmesurado em mente, uma ruidosa torrente de imagens, histórias, ideias, palavras e mais palavras que o sufocariam se não lograsse passá-las para o papel.
A descrição era exagerada; a torrente era apenas um riacho anêmico, mas cativou a imaginação de Irina de tal forma que Seth não teve outra alternativa senão começar a escrever. Para além de visitar a avó, que contribuía com a tradição oral, começou a documentar-se em livros e na internet, assim como a colecionar fotografias e cartas escritas em diferentes épocas. Ganhou a admiração de Irina, mas não a de Alma, que o acusava de ser grandioso nas ideias e desordenado nos hábitos, uma combinação fatal para um escritor. Se Seth tivesse tido tempo para refletir, teria admitido que a sua avó e o romance eram pretextos para ver Irina, aquela criatura arrancada de um conto nórdico para surgir onde menos se esperava: numa residência geriátrica; mas por muito que tivesse refletido, não teria conseguido explicar a atração irresistível que ela exercia sobre si, com aquele corpinho de órfã e palidez de tísica, exatamente o oposto do seu ideal feminino. Gostava de raparigas saudáveis, alegres, bronzeadas e sem complicações, do gênero das que existiam em abundância na Califórnia e no seu passado. Irina parecia não se aperceber do efeito que exercia sobre ele e tratava-o com a simpatia distraída que normalmente se reserva às mascotes alheias. Essa gentil indiferença de Irina, que noutros tempos teria interpretado como um desafio, paralisava-o num estado de timidez perpétua.
A avó disponibilizou-se a vasculhar nas suas reminiscências de modo a ajudar o neto com o livro que, segundo o próprio confessara, há uma década que ora avançava ora ficava parado. Era um projeto ambicioso e não havia ninguém mais qualificado do que Alma para o ajudar, pois tinha tempo e não mostrava ainda sintomas de demência senil. Alma ia com Irina à residência dos Belasco em Sea Cliff esquadrinhar as suas caixas, em que ninguém tocara desde a partida dela.
O seu antigo quarto continuava fechado, apenas lá se entrava para o limpar. Alma distribuíra quase todos os bens: à nora e à neta dera as joias, exceto uma pulseira de brilhantes que tinha guardado para a futura esposa de Seth; a hospitais e escolas, doara os livros; a obras de caridade, entregara a roupa e as peles, que ninguém se atrevia a usar na Califórnia com medo dos defensores dos animais, que num qualquer desvario podiam atacar à facada; outras coisas, deu-as a quem as quis receber, e guardou as únicas coisas que para si importavam: cartas, diários de vida, recortes de imprensa, documentos e fotografias. «Tenho de organizar este material, Irina, não quero que quando for uma anciã alguém remexa na minha intimidade.» A princípio começou a fazê-lo sozinha, mas, à medida que foi adquirindo confiança em Irina, começou a delegar nela essa tarefa. A rapariga acabou por tomar conta de tudo menos das cartas em envelopes amarelos que chegavam de vez em quando e que Alma fazia desaparecer de imediato. Tinha instruções para não lhes mexer.
Entregava ao neto as recordações uma a uma, com avareza, para o manter interessado o máximo de tempo possível, porque temia que, se ele se aborrecesse de saltitar à volta de Irina, o tão planeado manuscrito voltaria a ficar esquecido numa gaveta e ela veria o jovem muito menos vezes. A presença de Irina era indispensável nas reuniões com Seth, para que ele não se distraísse à espera dela. Alma ria-se entredentes ao pensar na reação da família se Seth, o delfim dos Belasco, se casasse com uma imigrante que sobrevivia a cuidar de velhos e a dar banho a cães. Essa possibilidade não lhe desagradava, pois Irina era mais inteligente que a maioria das atléticas namoradas temporárias de Seth; mas era uma joia em bruto, era necessário poli-la. Decidiu proporcionar-lhe um verniz de cultura, levá-la a concertos e a museus, dar-lhe a ler livros para adultos em vez desses calhamaços absurdos sobre mundos fantásticos e criaturas sobrenaturais de que ela tanto gostava, e ensinar-lhe boas maneiras, como o uso correto dos talheres à mesa.
Coisas que Irina não tinha aprendido com os seus avós na Moldávia nem com a sua mãe alcoólica no Texas. Como era esperta e agradecida, ia ser fácil refiná-la e seria uma forma subtil de lhe pagar por atrair Seth à Lark House.
O homem invisível
Ao fim de um ano a trabalhar para Alma Belasco, Irina teve a primeira suspeita de que a mulher tinha um amante, mas não se atreveu a dar importância a esse facto até que, algum tempo mais tarde, se viu forçada a contá-lo a Seth. A princípio, antes de Seth a ter iniciado no vício do suspense e da intriga, não tivera intenção de espiar Alma. Foi entrando na intimidade dela pouco a pouco, sem que nenhuma das duas se desse conta disso. A ideia do amante foi tomando forma ao organizar as caixas que iam trazendo da casa de Sea Cliff e ao examinar a fotografia de um homem numa moldura de prata no quarto de Alma, que ela mesma limpava regularmente com um pano de polir. Exceto uma outra mais pequena da família, que tinha na sala, não havia mais nenhuma no apartamento, o que chamava a atenção de Irina, porque o resto dos residentes da Lark House se rodeava de fotografias como forma de companhia. Alma apenas lhe disse que se tratava de um amigo da infância. Nas poucas vezes em que Irina se atreveu a fazer-lhe mais alguma pergunta, ela mudou de assunto, mas conseguiu arrancar-lhe que se chamava Ichimei Fukuda, um nome japonês, e era o artista do estranho quadro da sala, uma paisagem desolada de neve e céu cinzento, edifícios escuros de uma assoalhada, postes e cabos de eletricidade e, como único vestígio de vida, um pássaro negro em pleno voo.
Irina não percebia porque é que Alma tinha escolhido, entre as numerosas obras de arte dos Belasco, aquele quadro deprimente para decorar a sua casa. No retrato Ichimei Fukuda era um homem de idade indefinida, com a cabeça inclinada para o lado em atitude de indagação, os olhos semicerrados, porque estava virado para o sol, mas o olhar era franco e direto; tinha um assomo de sorriso na boca de lábios grossos, sensuais, e o cabelo espetado e abundante. Irina sentia-se inexoravelmente atraída por aquele rosto que parecia estar a chamar por ela ou a tentar dizer-lhe alguma coisa importante. De tanto o observar quando estava sozinha no apartamento, começou a imaginar Ichimei Fukuda de corpo inteiro, a atribuir-lhe qualidades e a inventar-lhe uma vida: tinha as costas largas, era solitário, controlado nas suas emoções e resignado. A recusa de Alma em falar dele fazia aumentar o seu desejo de o conhecer. Nas caixas encontrou uma foto do mesmo homem com Alma numa praia, os dois com as calças arregaçadas, as sapatilhas na mão, os pés na água, rindo e empurrando-se um ao outro. A atitude do casal a brincar na areia mostrava amor, intimidade sexual. Pressupôs que se encontravam sozinhos e que pediram a alguém, um desconhecido que passava, que tirasse aquela foto. Se Ichimei fosse mais ou menos da idade de Alma já estaria próximo dos oitenta anos, deduziu Irina, mas não lhe restavam dúvidas de que se o visse o reconheceria. Só Ichimei poderia ser a causa da errática conduta de Alma.
Irina conseguia prever os desaparecimentos da sua chefe através do silêncio absorto e melancólico nos dias anteriores, seguido de uma euforia súbita e quase incontida logo que decidia ir. Estivera à espera de algo e quando acontecia, ficava feliz; metia umas quantas peças de roupa numa pequena mala, avisava Kirsten para ela não ir ao atelier e deixava Neko aos cuidados de Irina. O gato, já velho, sofria de uma catrefada de manias e dolências; a extensa lista de recomendações e remédios estava colada na porta do frigorífico.
Era o quarto de uma série de gatos similares, todos com o mesmo nome, que tinham acompanhado Alma em diversas etapas da vida. Alma partia com a pressa de uma noiva, sem indicar onde ia nem quando pensava regressar. Passava dois ou três dias sem dar notícias e de repente, tal como desaparecera, regressava radiante e com o seu automóvel de brincar sem gasolina. Irina verificava as contas dela e vira os recibos de hotéis, e descobrira também que naquelas escapadelas Alma levava consigo as suas duas únicas camisas de dormir de seda, em vez dos pijamas de flanela que usava habitualmente. A rapariga perguntava-se por que razão Alma se escapulia como se fosse cometer algum pecado; era livre e podia receber quem quisesse no seu apartamento da Lark House.
Inevitavelmente, as suspeitas de Irina sobre o homem do retrato contagiaram Seth. A jovem tivera o cuidado de não mencionar as suas suspeitas, mas nas frequentes visitas ele começou a reparar nas repetidas ausências da avó. Quando a interrogava, Alma respondia-lhe que tinha ido treinar com os terroristas, experimentar ayahuasca ou qualquer explicação disparatada no tom sarcástico que usavam entre eles. Seth decidiu que precisava da ajuda de Irina para deslindar aquele mistério, nada fácil de obter, porque a lealdade da jovem em relação a Alma era monolítica. Conseguiu convencê-la de que a avó corria perigo. Alma parecia forte para a idade, mas na realidade tinha uma saúde delicada, tinha a tensão alta, problemas de coração e princípios de Parkinson, por isso tremiam-lhe as mãos. Não podia dar-lhe pormenores, visto que Alma se recusava a submeter-se a exames médicos profundos, porém tinham de estar atentos e evitar que corresse riscos.
— Queremos manter em segurança os nossos seres queridos, Seth. Mas aquilo que queremos para nós mesmos é autonomia. A tua avó nunca aceitaria que nos metêssemos na sua vida privada, mesmo que fosse para a proteger.
— Por isso mesmo temos de o fazer sem que se aperceba argumentou Seth.
Na opinião de Seth, no início de 2010, de repente, em cerca de duas horas, alguma coisa afetou a personalidade da avó. Sendo ela uma artista de êxito e um modelo no cumprimento dos deveres, afastou-se do mundo, da família, dos seus amigos, e refugiou- se numa residência geriátrica que nada tinha a ver com ela, passando também a vestir-se como uma refugiada tibetana, como dizia Doris, a nora. Um curto-circuito no cérebro, não podia ser outra coisa, acrescentou. A última coisa que viram da antiga Alma fora a declaração, depois de um almoço normal, de que ia dormir uma sesta. Às cinco da tarde, Doris bateu à porta do quarto da sogra para lhe lembrar a festa que se realizaria à noite; deparou-se com ela de pé em frente à janela, com o olhar perdido no nevoeiro, descalça e em roupa interior. Em cima de uma cadeira jazia desmaiado o seu magnífico vestido comprido. «Diz a Larry que não vou estar presente na gala e que não conte comigo para mais nada para o resto da vida.» A firmeza da voz não admitia contestação. A nora fechou a porta em silêncio e foi transmitir a mensagem ao marido. Era a noite em que recolhiam fundos para a Fundação Belasco, a mais importante do ano, e em que era posto à prova o poder de mobilização da família. Os empregados estavam já a terminar de pôr as mesas, os cozinheiros andavam atarefados com o banquete e os músicos da orquestra de câmara instalavam os seus instrumentos. Todos os anos Alma fazia um pequeno discurso, sempre mais ou menos o mesmo, posava para umas quantas fotografias com os doadores mais importantes e falava com a imprensa; era apenas isso que se lhe exigia, pois o restante ficava ao cuidado do filho Larry. Tiveram de se arranjar sem ela.
No dia seguinte começaram as mudanças definitivas. Alma começou a fazer as malas e depois reuniu-se com o seu contabilista e o seu advogado. Atribuiu a si mesma uma pensão prudente, entregou o resto dos bens a Larry sem instruções sobre como administrá-los e anunciou que ia viver para a Lark House. Para evitar a lista de espera, comprara a vez a uma antropóloga, que por uma quantia adequada se disponibilizara a esperar mais uns anos. Nenhum dos Belasco ouvira falar daquele lugar.
— É uma casa de repouso em Berkeley — explicou vagamente Alma.
— Um lar de idosos? — perguntou Larry assustado.
— Mais ou menos. Vou viver os anos que me restam sem complicações nem empecilhos.
— Empecilhos? Calculo que não se está a referir a nós!
— E o que é que vamos dizer às pessoas? — perguntou Doris subitamente.
— Digam que estou velha e louca. Não estarão a faltar à verdade — respondeu Alma.
O motorista levou-a até lá com o gato e as duas malas. Uma semana mais tarde,
Alma renovou a sua carta de condução, de que não precisara durante várias décadas, e comprou um Smart verde-limão, tão pequeno e leve que uma ocasião três rapazes travessos o viraram a pulso quando estava estacionado na rua e deixaram-no de rodas para cima como se fosse uma tartaruga de patas para o ar. As razões para Alma escolher aquele automóvel foram a cor chamativa, que o tornava visível para os outros condutores, e o tamanho, que garantia que, se por desgraça atropelasse uma pessoa, não a mataria. Era como se conduzisse um cruzamento entre uma bicicleta e uma cadeira de rodas.
— Julgo que a minha avó tem problemas graves de saúde, Irina, e por orgulho encerrou-se na Lark House, para que ninguém se aperceba — disse-lhe Seth.
— Se isso fosse verdade, ela já estaria morta, Seth. Além disso, ninguém se encerra na Lark House. É uma comunidade aberta onde as pessoas entram e saem à sua vontade. Por isso não são admitidos pacientes com Alzheimer, que podem fugir e perder- se.
— É precisamente disso que tenho medo. Num dos seus passeios pode acontecer uma coisa dessas à minha avó.
— Ela regressou sempre. Sabe onde vai e penso que não vai sozinha.
— Então com quem é que ela vai? Com um galã? Não estás a pensar que a minha avó anda pelos hotéis com um amante! — gozou Seth, mas a expressão séria de Irina fê-lo parar de rir.
— Porque não?
— É uma anciã!
— Tudo é relativo. É idosa, não anciã. Na Lark House, Alma pode ser considerada jovem. Além disso, o amor pode acontecer em qualquer idade. De acordo com Hans Voigt, na velhice é bom estar apaixonado; faz bem à saúde e afasta a depressão.
— Como é que os velhos o fazem? Quer dizer, na cama — perguntou Seth.
— Sem pressas, imagino eu. Devias perguntar à tua avó — respondeu ela.
Seth conseguiu convencer Irina a ser sua aliada e, em conjunto, foram juntando as peças daquele puzzle. Uma vez por semana, Alma recebia uma caixa com três gardênias, deixada por um mensageiro na recepção. Não traziam o nome de quem as enviava nem o da florista, mas Alma não se mostrava surpreendida nem curiosa. Costumava também receber na Lark House um envelope amarelo, sem remetente, que ela deitava ao lixo depois de retirar do interior um outro envelope mais pequeno, igualmente em nome dela, mas com a direção de Sea Cliff escrita à mão. Ninguém da família nem dos empregados dos Belasco recebera aqueles envelopes nem os enviara para a Lark House.
Não faziam ideia da existência dessas cartas até Seth ter falado delas. Os jovens não conseguiram averiguar quem era o remetente, porque eram necessários dois envelopes e duas direções para a mesma carta, nem onde ia parar aquela correspondência insólita. Como nem Irina encontrou vestígios no apartamento nem Seth em Sea Cliff, imaginaram que Alma as guardava no cofre de segurança do seu banco.
12 de abril de 1996
“Outra lua de mel inesquecível contigo, Alma! Há muito tempo que não te via tão feliz e tranquila. O espetáculo mágico de mil e setecentas cerejeiras em flor recebeu-nos em Washington. Há muitos anos, vi algo semelhante em Quioto. A cerejeira de Sea Cliff que o meu pai plantou ainda floresce assim?
Acariciaste os nomes da pedra escura do Memorial ao Vietname e disseste-me que as pedras falam, que é possível ouvir as suas vozes, que os mortos estão presos nesse muro e que nos chamam, indignados com o seu sacrifício. Fiquei a pensar nisso. Há espíritos em todo o lado, Alma, mas creio que são livres e não guardam rancor.”
Ichi
A menina polaca
Para satisfazer a curiosidade de Irina e Seth, Alma Belasco começou a evocar, com a lucidez com que guardamos os momentos especiais, a primeira vez que viu Ichimei Fukuda, e depois continuou pouco a pouco a desvelar o resto da sua vida. Conhecera-o no magnífico jardim da mansão de Sea Cliff, na primavera de 1939. Na época, ela era uma menina com menos apetite do que um canário, que de dia andava calada e de noite chorava, escondida nas entranhas de um armário de três espelhos no quarto que os tios tinham decorado para ela, uma sinfonia de azul: azuis as cortinas, as rendas da cama com dossel, a carpete belga, os passarinhos do papel de parede e as reproduções de Renoir com molduras douradas; azul era a vista da janela, mar e céu, quando o nevoeiro desaparecia. Alma Mendel chorava por tudo aquilo que perdera para sempre, embora os tios afirmassem com tal certeza que a separação dos seus pais e do irmão seria temporária que uma miudinha menos intuitiva teria acreditado neles. A última imagem que ela guardava dos pais era a de um homem mais velho, barbudo e severo, vestido de negro, com um sobretudo comprido e de chapéu, e de uma mulher muito mais nova lavada em lágrimas, de pé no cais de Danzig, despedindo-se dela com lenços brancos. Ficavam mais e mais pequenos e difusos à medida que o barco se afastava em direção a Londres com um bramido lastimoso, enquanto ela, agarrada à amurada, era incapaz de lhes devolver o adeus.
A tremer na sua roupa de viagem, confundida entre os outros passageiros aglomerados na popa para verem desaparecer o seu país, Alma procurava manter a postura que lhe fora inculcada desde que nascera. Através da crescente distância que os separava, conseguia perceber a tristeza dos pais, o que reforçava o seu pressentimento de que não voltaria a vê-los. Num gesto muito raro nele, o pai pusera um braço sobre os ombros da sua mãe, como se quisesse impedir que ela se lançasse à água, enquanto ela agarrava no chapéu com uma mão, defendendo-o do vento, e com a outra agitava o seu lenço freneticamente.
Três meses antes, Alma tinha estado com eles naquele mesmíssimo cais para se despedir do irmão Samuel, mais velho que ela dez anos. À mãe dela custara muitas lágrimas resignar-se à decisão do marido de o enviar para Inglaterra, como medida de precaução para o caso improvável de os rumores de guerra se transformarem em realidade. Lá o rapaz estaria a salvo de ser recrutado pelo exército e da fanfarronice de se alistar como voluntário. Os Mendel não imaginavam que dois anos mais tarde Samuel estaria na Real Força Aérea a lutar contra a Alemanha. Ao ver o irmão embarcar com a atitude desafiadora de quem empreende a sua primeira aventura, Alma teve um vislumbre da ameaça que pendia sobre a sua família. O irmão era a luz da existência dela, iluminava os seus momentos de tristeza e afastava os seus temores com o seu riso confiante, as suas piadas afetuosas e as suas canções no piano. Por seu lado, Samuel ficou encantado com Alma assim que pegou nela ainda recém-nascida, um embrulho cor-de- rosa com cheiro a pó de talco que miava como um gato; essa paixão pela irmã foi crescendo nos sete anos seguintes, até terem de se separar. Ao saber que Samuel ia deixar de estar ao lado dela, Alma teve o único chelique da sua vida. Começou com choro e gritos, continuou com ela a estrebuchar no chão e acabou num banho de água gelada onde a mãe e a preceptora a submergiram sem piedade.
A partida do rapaz deixou-a angustiada e ansiosa, porque suspeitava de que aquilo era o prenúncio de mudanças drásticas. Ouvira os pais a falarem de Lillian, uma irmã da mãe que vivia nos Estados Unidos e era casada com Isaac Belasco, uma pessoa importante, como acrescentavam quando mencionavam o nome dele. Até esse momento, a rapariguinha desconhecia a existência daquela tia afastada e daquele homem importante e achou estranho que de repente a obrigassem a escrever-lhes postais com a sua melhor caligrafia. Pareceu-lhe igualmente um mau augúrio que a sua preceptora incluísse a Califórnia nas aulas de História e Geografia, uma mancha de cor laranja no mapa, do outro lado do globo terrestre. Os pais esperaram que passassem as festas de fim de ano para lhe dizerem que ela iria também estudar para o estrangeiro durante um tempo, mas, ao contrário do irmão, continuaria a viver no seio da família, com os tios Isaac e Lillian e os três primos, em São Francisco. A viagem de Danzig até Londres e desde lá num transatlântico até São Francisco durou sete dias. Os Mendel atribuíram a miss Honeycomb, a preceptora inglesa, a responsabilidade de levar Alma sã e salva até casa dos Belasco. Miss Honeycomb era uma mulher solteira, de pronúncia afetada, modos pretensiosos e expressão dura, que tratava com desdém todos os que considerava socialmente inferiores e demonstrava um servilismo dengoso com os seus superiores, mas durante o ano e meio em que trabalhara para os Mendel conseguira ganhar a confiança deles. Não caía bem a ninguém, muito menos a Alma, porém a opinião da rapariga não contava no momento de escolher as preceptoras ou os tutores que a tinham educado em casa ao longo dos seus primeiros anos. Para garantir que a mulher faria a viagem de bom grado, os patrões prometeram-lhe uma gratificação substancial, que receberia em São Francisco assim que Alma estivesse instalada com os tios.
Miss Honeycomb e Alma viajaram num dos melhores camarotes do barco, enjoadas ao princípio e entediadas depois. A inglesa não encaixava entre os passageiros da primeira classe, só que preferiria saltar borda fora a misturar-se com as pessoas do seu nível social, por isso passou mais de duas semanas sem falar com mais ninguém além da jovem pupila. Havia outras crianças a bordo, mas Alma não se interessou por nenhuma das atividades infantis programadas e não fez amigos; esteve aborrecida com a sua preceptora, a choramingar às escondidas, porque era a primeira vez que se separava da mãe, a ler contos de fadas e a escrever cartas melodramáticas, que entregava diretamente ao capitão para que as pusesse no correio de algum porto, pois temia que, se as desse a miss Honeycomb, acabassem a alimentar os peixes. Os únicos momentos memoráveis daquela lenta travessia foram a passagem do canal do Panamá e uma festa de fantasias na qual um índio apache empurrou miss Honeycomb, transformada em vestal grega com um lençol, para a piscina.
Os tios e os primos Belasco estavam à espera de Alma no buliçoso porto de São Francisco, entre uma multidão tão densa de estivadores asiáticos atarefados à volta das embarcações, que miss Honeycomb temeu que por erro tivessem chegado a Shangai. A tia Lillian, ataviada com um vestido de astracã cinzento e um turbante turco, estreitou a sobrinha num abraço sufocante, enquanto Isaac Belasco e o seu motorista tentavam reunir os catorze baús e volumes das viajantes. As duas primas, Martha e Sarah, cumprimentaram a recém-chegada com um frio beijo na face e de imediato ignoraram a sua existência, não por malícia, simplesmente porque estavam na idade de procurar namorado e esse objetivo deixava-as cegas para o resto do mundo. Apesar da fortuna dos Belasco, não seria fácil para elas encontrar os maridos desejados, visto terem herdado o nariz do pai e a figura rechonchuda da mãe, mas muito pouco da inteligência do primeiro e da simpatia da segunda.
O primo Nathaniel, o único varão, nascido seis anos depois da sua irmã Sarah, entrava a medo na puberdade com aspeto de garça. Era pálido, magro, comprido, pouco confortável com aquele corpo em que sobravam cotovelos e joelhos, mas tinha os olhos pensativos de um cão grande. Estendeu a mão a Alma com o olhar fixo no chão e murmurou as boas-vindas que os pais lhe tinham mandado. Ela agarrou-se àquela mão como se se tratasse de uma boia de salvação e as tentativas do rapaz para se desprender foram inúteis.
Deste modo começou a estadia de Alma na grande casa de Sea Cliff, onde havia de passar setenta anos com poucos interregnos. Nos primeiros meses de 1939 verteu quase toda a sua reserva de lágrimas e depois disso só em muito raras ocasiões voltou a chorar. Aprendeu a remoer as suas penas sozinha e com dignidade, convencida de que ninguém se importava com os problemas alheios e que as dores silenciosas acabavam por se diluir. Adotara as lições filosóficas do pai, homem de princípios rígidos e inabaláveis que se gabava de se ter formado sozinho e de não dever nada a ninguém, o que não era completamente verdade. A fórmula simplificada do êxito, que Mendel tinha incutido aos filhos desde o berço, consistia em nunca se queixarem, não pedirem nada a ninguém, esforçarem-se por ser os melhores em tudo e não confiarem em ninguém. Alma carregaria durante várias décadas aquele tremendo saco de pedras, até que o amor a ajudou a libertar-se de algumas delas. A sua atitude estoica ajudou a consolidar a aura de mistério que possuía desde criança, muito antes de existirem os segredos que tivera de guardar.
Na Depressão dos anos trinta, Isaac Belasco conseguiu evitar os piores efeitos da derrocada econômica e até aumentou o patrimônio.
Enquanto os outros perdiam tudo, ele trabalhava dezoito horas por dia no seu escritório de advogados e investia em aventuras comercias, que pareciam arriscadas naquele momento e que a longo prazo demonstravam ser magníficas. Era formal, parco de palavras, e de coração sensível. Para ele, aquela sensibilidade andava de mãos dadas com a fraqueza de carácter, por isso esforçava-se por mostrar uma autoridade intransigente, mas bastava lidar com ele duas vezes para intuir a sua tendência para a bondade. A reputação de homem compassivo que o precedia chegou mesmo a ser um entrave na sua carreira de advogado. Mais tarde, quando se candidatou a juiz do Supremo Tribunal da Justiça da Califórnia, perdeu as eleições por os opositores o acusaram de perdoar com excessiva generosidade, em detrimento da justiça e da segurança pública.
Isaac recebeu Alma em sua casa de boa vontade, mas ao fim de pouco tempo o choro noturno da rapariguinha começou a deixar-lhe os nervos em franja. Eram soluços sufocados, contidos, quase inaudíveis através das grossas portas de caoba talhada do armário, que no entanto chegavam até ao seu quarto, do outro lado do corredor, onde ele tentava ler. Julgava que as crianças, à semelhança dos animais, possuíam a capacidade natural de se adaptarem e que a jovem se resignaria rapidamente à separação dos pais ou então eles emigrariam para a América. Sentia-se incapaz de a ajudar, refreado pelo pudor que lhe inspiravam os assuntos femininos. Se não percebia as ações habituais da sua mulher e das suas filhas, muito menos podia entender as daquela menina polaca que ainda nem oito anos fizera. Começou a ter um pressentimento supersticioso de que as lágrimas da sobrinha auguravam um desastre catastrófico. As cicatrizes da Primeira Guerra Mundial eram ainda visíveis na Europa; estavam frescas as recordações da terra mutilada pelas trincheiras, dos milhões de mortos, das viúvas e dos órfãos, da podridão dos cavalos desfeitos, dos gases mortais, das moscas e da fome.
Ninguém queria outro conflito como aquele, mas Hitler já tinha anexado a Áustria, controlava parte da Checoslováquia e os seus incendiários apelos à criação de um império da raça superior não podiam ser desvalorizados como desvario de um louco. No final de janeiro, Hitler transmitira ao mundo a sua pretensão de livrar o mundo da ameaça judaica; expulsá-los não era suficiente, tinham de ser exterminados. Algumas crianças têm poderes psíquicos; não seria estranho que Alma visse nos seus pesadelos algo horrível e que estivesse a passar por uma terrível dor por antecipação, pensava Isaac Belasco. De que estariam à espera os seus cunhados para saírem da Polônia? Andava há um ano a pressioná-los para que o fizessem, tal como tantos outros judeus que estavam a fugir da Europa; oferecera-lhes a sua hospitalidade, embora os Mendel tivessem recursos mais do que suficientes e não precisassem da sua ajuda. Baruj Mendel respondera-lhe que a integridade da Polônia estava assegurada pela Grã-Bretanha e pela França. Acreditava estar seguro, protegido pelo seu dinheiro e pelas suas ligações comerciais; perante o acosso da propaganda nazi, a única concessão que fez foi mandar os filhos para fora do país. Isaac Belasco não conhecia Mendel, mas através das cartas e telegramas era evidente que o marido da cunhada era tão arrogante e antipático como teimoso.
Foi necessário que passasse um mês até Isaac decidir intervir na situação de Alma e mesmo então não estava preparado para o fazer pessoalmente, por isso pensou que a solução do problema caberia à sua mulher. Apenas uma porta, sempre entreaberta, separava os esposos de noite, porém Lillian era dura de ouvido e usava láudano para dormir, de forma que nunca se teria dado conta do choro no armário se o marido não lhe tivesse dado conhecimento. Nessa altura, miss Honeycomb já não estava com eles: assim que chegara a São Francisco a mulher recebera a gratificação prometida e doze dias depois regressou ao país natal, enojada com os modos rudes, o sotaque incompreensível e a democracia dos norte-americanos, como disse sem se dar conta do quão ofensivo era esse comentário para os Belasco, pessoas educadas que a tinham tratado com grande consideração.
Por outro lado, quando Lillian, advertida pela irmã, procurou no forro do sobretudo de viagem de Alma uns diamantes que os Mendel lá haviam colocado, mais para cumprirem uma tradição do que para assegurar o sustento da filha, visto não se tratar de pedras de valor extraordinário, estes tinham desaparecido. A suspeita recaiu imediatamente em miss Honeycomb e Lillian sugeriu que se enviasse um dos investigadores do escritório do marido em busca da inglesa, mas Isaac decidiu que não valia a pena. O mundo e a família estavam já suficientemente convulsionados para se perder tempo à caça de preceptoras através de mares e continentes; uns diamantes a mais ou a menos não alterariam nada na vida de Alma.
— As minhas amigas do bridge comentaram comigo que em São Francisco há um estupendo psicólogo infantil — comunicou Lillian ao marido, quando teve conhecimento do estado da sua sobrinha.
— O que é isso? — perguntou o patriarca, afastando por um momento os olhos do jornal.
— O nome diz tudo, Isaac, não te faças desentendido.
— Alguma das tuas amigas conhece alguém que tenha uma criança tão desequilibrada que seja necessário colocá-la nas mãos de um psicólogo?
— Seguramente, Isaac, mas não admitiriam uma coisa dessas nem mortas.
— A infância é uma etapa da existência infeliz por natureza. A história de que as crianças merecem ser felizes foi inventada por Walt Disney.
— És tão cabeça-dura! Não podemos deixar Alma perpetuamente a chorar sem consolo. Temos de fazer alguma coisa.
— Está bem, Lillian. Se tudo o resto falhar recorreremos a essa medida extrema. Por agora, podias dar a Alma umas gotas do teu medicamento.
— Não sei se será boa ideia, Isaac, isso parece-me uma faca de dois gumes. Não é boa ideia transformar a menina numa viciada em ópio tão cedo.
Andavam nisto, a debater os prós e os contras do psicólogo e do ópio, quando se aperceberam de que o armário permanecera em silêncio durante três noites. Ficaram de ouvidos atentos duas noites mais e verificaram que inexplicavelmente a rapariguinha acabara por acalmar-se e, além de dormir a noite toda, começara a comer como qualquer criança normal. Alma não esquecera os pais nem o irmão e continuava a desejar que a sua família se reunisse em breve, mas estava a ficar sem lágrimas e começara a distrair-se com o despontar da amizade entre ela e as duas pessoas que seriam os únicos amores da sua vida: Nathaniel Belasco e Ichimei Fukuda. O primeiro, quase a fazer treze anos, era o filho mais novo dos Belasco e o segundo, que ia fazer oito, como ela, era o filho mais novo do jardineiro.
Martha e Sarah, as filhas dos Belasco, viviam num mundo tão diferente do de Alma, preocupadas apenas com a moda, as festas e os potenciais namorados, que quando se cruzavam com ela nos recantos da mansão de Sea Cliff ou nos raros jantares formais na sala de jantar sobressaltavam-se sem conseguirem lembrar-se de quem era aquela rapariguinha e por que razão estava ali. Nathaniel, pelo contrário, não conseguia pô-la de parte, porque Alma se colou aos calcanhares dele desde o primeiro dia, determinada a substituir o adorado irmão Samuel por aquele primo timorato. Era o membro do clã Belasco mais próximo dela em termos de idade, embora tivessem cinco anos de diferença, e o mais acessível devido ao seu temperamento tímido e doce.
A rapariga provocava em Nathaniel um misto entre o fascínio e o medo. Alma parecia ter sido arrancada de um daguerreótipo, com o seu pulcro sotaque britânico, aprendido com a preceptora ladra, e a sua seriedade de coveiro, rígida e angulosa como uma tábua, a cheirar à naftalina dos seus baús de viagem e com uma desafiadora madeixa branca sobre a testa, que contrastava com o negro intenso do cabelo e com a sua pele cor de azeitona. A princípio, Nathaniel tentou escapar, no entanto nada fazia esmorecer os desajeitados avanços de Alma e ele acabou por ceder, pois tinha herdado o bom coração do pai. Adivinhava a dor silenciosa da prima, que esta disfarçava com orgulho, mas evitava com diversos pretextos a obrigação de a ajudar. Alma era uma ranhosa, apenas tinha com ela um ténue laço de sangue, estava de passagem em São Francisco e seria um desperdício de sentimentos iniciar uma amizade com ela. Após passarem três semanas sem sinais de que a visita da prima fosse terminar, esgotou-se-lhe aquele pretexto e foi perguntar à mãe se por acaso pensavam adotá-la. «Espero que não tenhamos de chegar a isso», respondeu-lhe Lillian com um calafrio. As notícias da Europa eram muito inquietantes e a possibilidade de a sobrinha ficar órfã começava a ganhar forma na sua cabeça. Pelo tom da resposta, Nathaniel deduziu que Alma iria ficar ali por tempo indeterminado e submeteu-se ao instinto de gostar dela. Dormia do outro lado da casa e ninguém lhe dissera que Alma chorava no armário, mas de algum modo ficou a saber disso e muitas noites ia pé ante pé fazer-lhe companhia.
Os Fukuda foram apresentados a Alma por Nathaniel. Ela vira-os juntos das janelas, mas só saiu para o jardim no início da primavera, quando o clima melhorou. Um sábado, Nathaniel vendou-lhe os olhos, prometendo que ia fazer-lhe uma surpresa, e levou-a pela mão através da cozinha e do tanque até ao jardim. Quando lhe retirou a venda e ela levantou os olhos, percebeu que estava debaixo de uma cerejeira em flor, uma nuvem de algodão cor-de-rosa.
Junto à árvore estava um homem com um fato-macaco de trabalho e um chapéu de palha, de rosto asiático, pele curtida, de estatura baixa e largo de ombros, apoiado numa pá. Num inglês entrecortado e difícil de entender, disse a Alma que aquele momento era maravilhoso, mas duraria apenas uns dias e em breve as flores cairiam como chuva sobre a terra; melhor seria a lembrança da cerejeira em flor, porque duraria todo o ano, até à primavera seguinte. Esse homem era Takao Fukuda, o jardineiro japonês que cuidava da propriedade há muitos anos e a única pessoa diante de quem Isaac Belasco tirava o chapéu em sinal de respeito.
Nathaniel voltou para casa e deixou a prima na companhia de Takao, que lhe mostrou todo o jardim. Conduziu-a aos diferentes patamares distribuídos pela encosta, desde o topo da colina, onde se erguia a casa, até à praia. Percorreram caminhos estreitos salpicados de estátuas clássicas manchadas pela patine verde da umidade, fontes, árvores exóticas e plantas suculentas; explicou-lhe de onde eram originárias e os cuidados que requeriam, até que chegaram a uma pérgula coberta de rosas trepadeiras com vista panorâmica para o mar, a entrada da baía, à esquerda, e a ponte Golden Gate, inaugurada dois anos antes, à direita. Dali avistavam-se colônias de lobos-do-mar a descansar sobre as rochas e, perscrutando o horizonte com paciência e muita sorte, podiam ver-se também as baleias que vinham do norte para ter os filhotes nas águas da Califórnia. Depois Takao levou-a à estufa, uma réplica em miniatura de uma típica estação de comboios vitoriana, de ferro forjado e vidro. Lá dentro, na luz difusa e sob o calor úmido do aquecimento e dos vaporizadores, as plantas delicadas começavam a sua vida em tabuleiros, cada uma com uma etiqueta com o respetivo nome e a data em que devia ser transplantada.
Entre duas mesas compridas de madeira rústica, Alma vislumbrou um rapaz concentrado nuns rebentos, que assim que os ouviu entrar largou a tesoura e prestou continência como um soldado. Takao aproximou-se dele, sussurrou-lhe algo numa língua desconhecida para Alma e despenteou-lhe o cabelo. «Este é o meu filho mais novo», disse. Alma observou sem disfarçar o pai e o filho como se fossem seres de outra espécie; não eram parecidos com os orientais das ilustrações da Enciclopédia Britânica.
O rapaz cumprimentou-a inclinando o torso e ao apresentar-se manteve a cabeça baixa.
— Sou Ichimei, o quarto filho de Takao e Heideko Fukuda, tenho muita honra em conhecê-la, senhorita.
— Sou Alma, sobrinha de Isaac e Lillian Belasco, tenho muita honra em conhecê- lo, senhor — retorquiu ela, desconcertada e divertida.
Esta formalidade inicial, que mais tarde o carinho tingiria com humor, foi o mote da duradoura relação entre eles. Alma, mais alta e forte, parecia mais velha. O aspeto franzino de Ichimei enganava, porque conseguia levantar sem esforço dois pesados sacos de terra e empurrar pela encosta acima um carro de mão carregado. Tinha uma cabeça grande em relação ao corpo, a pele cor de mel, os olhos pretos separados e o cabelo espetado e indomável. Estavam ainda a nascer-lhe os dentes definitivos e, ao sorrir, os olhos transformavam-se em dois riscos.
Durante o resto da manhã Alma seguiu Ichimei, enquanto ele colocava as plantas nos buracos cavados pelo pai e lhe revelava a vida secreta do jardim, os filamentos entrelaçados no subsolo, os insetos quase invisíveis, os rebentos minúsculos na terra que dentro de uma semana alcançariam um palmo de altura. Falou-lhe dos crisântemos, que retirava da estufa naquele momento, explicou-lhe como se transplantavam na primavera e floresciam no princípio do outono, dando cor e alegria ao jardim quando as flores estivais já secaram.
Mostrou-lhe as roseiras sufocadas de botões e como se devem eliminar quase todos, deixando só alguns para que as rosas possam crescer grandes e saudáveis. Fê-la perceber a diferença entre as plantas de semente e as de bolbo, entre as de sol e as de sombra, entre as autóctones e as trazidas de longe. Takao Fukuda, que os observava pelo canto do olho, aproximou-se para dizer a Alma que as tarefas mais delicadas eram da responsabilidade de Ichimei, porque havia nascido com dedos verdes. O rapaz corou com o elogio.
A partir desse dia Alma aguardava impacientemente os jardineiros, que apareciam pontualmente aos fins de semana. Takao Fukuda levava sempre consigo Ichimei e às vezes, quando havia mais trabalho, era também acompanhado por Charles e James, os filhos mais velhos, ou por Megumi, a sua única filha, vários anos mais velha do que Ichimei, a quem só interessava a ciência e que achava pouca graça a sujar-se com terra. Ichimei, paciente e disciplinado, cumpria as suas tarefas sem se distrair com a presença de Alma, certo de que o pai lhe deixaria meia hora livre ao final do dia para brincar com ela.
Alma, Nathaniel e Ichimei
A casa de Sea Cliff era tão grande e todos os habitantes estavam sempre tão ocupados que as brincadeiras das crianças passavam despercebidas. Se alguém estranhasse o facto de Nathaniel se entreter tantas horas com uma rapariga muito mais nova, a curiosidade esfumava-se nesse preciso momento, porque havia outros assuntos para tratar. Alma superara o pouco amor que tivera pelas bonecas e aprendeu a jogar scrabble com um dicionário e xadrez por pura perseverança, pois a estratégia nunca tinha sido o seu ponto forte. Por seu lado, Nathaniel aborrecera-se de colecionar selos e de acampar com os escuteiros. Ambos participavam em peças teatrais de apenas duas ou três personagens que ele escrevia e que, seguidamente, montavam no sótão. A falta de público nunca fora um impedimento, porque o processo era muito mais divertido do que o resultado final e eles não procuravam aplausos: o prazer estava em lutar pelo guião e em ensaiar os papéis. Roupa velha, cortinas postas de lado, móveis desconjuntados e trastes em vários níveis de destruição constituíam a matéria-prima de disfarces, acessórios e efeitos especiais, o resto era complementado com imaginação. Ichimei, que entrava na casa dos Belasco sem precisar de convite, fazia também parte da companhia teatral representando papéis secundários, por ser um péssimo ator.
A sua falta de talento era compensada pela fabulosa memória e pela sua facilidade para o desenho; conseguia recitar sem se enganar longas falas inspiradas nos romances prediletos de Nathaniel, desde Drácula até ao Conde de Monte Cristo, e era o responsável por pintar os cenários. Aquela camaradagem, que fizera Alma sair do estado de orfandade e abandono em que submergira no princípio, não durou muito tempo.
No ano seguinte, Nathaniel entrou para a escola secundária num colégio de rapazes inspirado no modelo britânico. De um dia para o outro, a vida dele mudou. Para além de passar a vestir calças, teve de enfrentar a infinita brutalidade dos rapazes que se iniciam na tarefa de serem homens. Não estava preparado para isso: parecia um miúdo de dez anos, em vez dos catorze que completara, não sofria ainda dos ataques despiedados das hormonas, era introvertido e cauteloso e, para sua desgraça, dado à leitura e péssimo nos desportos. Nunca chegaria a ter a arrogância, a crueldade e a grosseria dos outros rapazes, e como não era assim por natureza, procurava em vão fingir sê-lo; suava com cheiro a medo. Na primeira quinta-feira de aulas regressou a casa com um olho negro e a camisa suja de sangue do nariz. Recusou-se a responder às perguntas da mãe e disse a Alma que tinha ido contra o mastro da bandeira. Nessa noite fez chichi na cama, pela primeira vez desde que se conseguia lembrar. Horrorizado, escondeu os lençóis molhados no buraco da chaminé da lareira, que não foram descobertos até ao fim de setembro, quando ao acenderem o lume a casa se encheu de fumo. Lillian também não tinha conseguido que o filho lhe explicasse o desaparecimento dos lençóis, mas imaginou a causa e decidiu deixar o assunto por ali. Fez uma visita ao diretor da escola, um escocês de cabelo ruivo e nariz de bêbedo, que a recebeu atrás de uma mesa própria para um regimento, rodeado de paredes cobertas por painéis de madeira escura e vigiado pelo rei Jorge Sexto.
O ruivo informou Lillian que a violência na medida certa era considerada parte essencial do método didático da escola; por isso incentivavam-se os desportos agressivos, as brigas dos estudantes resolviam-se com luvas de boxe num ringue e a indisciplina corrigia-se com vergastadas no traseiro, aplicadas por ele mesmo. Os homens formam-se à pancada. Fora sempre assim, e quanto mais depressa Nathaniel Belasco aprendesse a fazer-se respeitar, melhor seria para ele. Acrescentou que a intervenção de Lillian expunha o filho ao ridículo, mas por se tratar de um aluno novo, ele abriria uma exceção e esquecê-la-ia. Lillian foi a bufar até ao escritório do marido, na rua Montgomery, onde entrou de forma impetuosa, mas lá tão-pouco encontrou apoio.
— Não te metas nisso, Lillian. Todos os rapazes passam por esses rituais de iniciação e quase todos sobrevivem — disse-lhe Isaac.
— A ti também te batiam?
— Claro que sim. E como podes ver o resultado não foi assim tão mau.
Os quatro anos do ensino secundário teriam sido um tormento interminável para Nathaniel, se não tivesse contado com a ajuda de quem menos esperava. Nesse fim de semana, ao vê-lo coberto de arranhões e hematomas, Ichimei levou-o até à pérgula do jardim e fez-lhe uma demonstração eficaz de artes marciais, que praticava desde o dia em que conseguira manter-se sobre as pernas. Pôs-lhe uma pá na mão e disse-lhe que tentasse partir-lhe a cabeça. Nathaniel pensou que ele estava a brincar e levantou a pá no ar como se fosse um guarda-chuva. Foram necessárias várias tentativas para que compreendesse as indicações e se lançasse a sério contra Ichimei. Não percebeu como perdeu a pá, mas esta saiu a voar e aterrou ao contrário no chão de mosaico italiano da pérgula, perante o olhar atônito de Alma, que observava de perto. Foi deste modo que Nathaniel teve conhecimento de que o impassível Takao Fukuda ensinava uma espécie de mescla de judo e karaté aos filhos e a outros rapazes da colônia japonesa, numa garagem alugada da rua Pine.
Contou-o ao pai, que ouvira falar vagamente sobre esses desportos, que começavam a ser conhecidos na Califórnia. Isaac Belasco foi à rua Pine sem muita esperança de que Fukuda pudesse ajudar o filho, porém o jardineiro explicou-lhe que a beleza das artes marciais residia precisamente no facto de estas não exigirem força física, mas concentração e destreza para utilizar o peso e o impulso do adversário para o derrubar. Nathaniel começou as suas aulas. O motorista levava-o três noites por semana à garagem, onde primeiro lutava com Ichimei e as crianças pequenas e mais tarde com Charles, James e outros rapazes mais velhos. Andou vários meses com o esqueleto desengonçado até que aprendeu a cair sem se magoar. Perdeu o medo das brigas. Nunca passaria do nível de principiante, no entanto isso era mais do que sabiam os rapazes mais velhos da escola. Rapidamente deixaram de o sovar, porque o primeiro que se aproximava com cara de poucos amigos era logo dissuadido com quatro gritos guturais e uma exagerada coreografia de posturas marciais. Isaac Belasco nunca fez perguntas sobre o resultado das aulas, tal como anteriormente não fizera caso das surras que o filho levava, mas alguma coisa deve ter sabido, pois um dia apareceu na rua Pine com um camião e quatro operários para instalar um chão de madeira na garagem. Takao Fukuda recebeu-o com uma série de reverências formais e também não fez nenhum comentário.
A ida de Nathaniel para o colégio pôs termo às representações teatrais do sótão. Além das tarefas escolares e do esforço constante em defender-se, o rapaz andava ocupado com angústias metafísicas e uma estudada tristeza, que a mãe procurava remediar com colheradas de óleo de fígado de bacalhau. Só lhe sobrava tempo para algumas partidas de scrabble e de xadrez, quando Alma conseguia apanhá-lo a jeito antes de ele se fechar no quarto a martelar numa guitarra.
Tinha descoberto o jazz e os blues, mas desprezava os bailes da moda, porque ficaria paralisado de vergonha numa pista, onde seria evidente a sua inaptidão para o ritmo, herança de todos os Belasco. Presenciava, com uma mistura de sarcasmo e inveja, as demonstrações de lindy hop com que Alma e Ichimei pretendiam animá-lo. As crianças tinham dois discos riscados e um fonógrafo que Lillian pusera de parte por estar avariado, Alma resgatara-o do lixo e Ichimei tinha-o desmontado e arranjado com os seus dedos verdes e a sua paciente intuição.
A escola secundária, que tão mau começo tivera para Nathaniel, nos anos seguintes continuou a ser um martírio. Os colegas cansaram-se de lhe fazer esperas para o sovarem e, em vez disso, submeteram-no a quatro anos de chacota e isolamento; não lhe perdoavam a curiosidade intelectual, as boas notas e a pouca destreza física. Nunca superou a sensação de ter nascido num lugar e num tempo equivocados. Tinha de participar em desportos, pilar da educação inglesa, e sofria repetidamente a humilhação de ser o último a chegar à meta a correr e de ninguém o querer na sua equipa. Aos quinze anos deu um salto desde a ponta dos pés até às orelhas; tiveram de lhe comprar sapatos novos e de lhe descer a bainha das calças de dois em dois meses. Deixou de ser o mais pequeno da turma e atingiu uma estatura normal, cresceram-lhe as pernas, os braços e o nariz, adivinhavam-se-lhe as costelas debaixo da camisa e, no seu pescoço magro, a maçã de Adão parecia um tumor; deu-lhe para andar de cachecol mesmo no verão. Odiava o seu perfil de abutre depenado e procurava enfiar-se nos cantos para ser visto de frente. Salvou-se das espinhas na cara, que infestavam os seus inimigos, mas não dos complexos próprios da idade. Não podia imaginar que daí a três anos teria um corpo proporcionado, as feições ter-se-iam suavizado e chegaria a ser tão bonito como um ator de cinema romântico.
Sentia-se feio, desgraçado e só; começou a remoer na ideia de se suicidar, como confessou a Alma num dos seus piores momentos de autocrítica. «Isso era um desperdício, Nat. É melhor acabares a escola, estudares Medicina, e ires para a índia cuidar de leprosos. Eu acompanho-te», replicou ela, sem muita simpatia, porque comparados com os da sua família, os problemas existenciais do primo eram uma piada.
A diferença de idade entre ambos era pouco notória, pois Alma desenvolvera-se cedo e a sua tendência para a solidão fazia com que parecesse mais velha. Enquanto ele vivia no limbo de uma adolescência que parecia eterna, nela acentuara-se a seriedade e a força que o pai lhe impusera e que ela cultivava como virtudes essenciais. Sentia-se abandonada pelo primo e pela vida. Conseguia adivinhar a intensa repulsa que Nathaniel desenvolvera contra si próprio ao entrar no colégio, porque em menor medida ela também a sentia, mas, ao contrário do rapaz, ela não se permitia o vício de olhar para o espelho à procura de defeitos nem o de lamentar a sua sorte. Tinha outras preocupações.
Na Europa a guerra alastrava como um furacão apocalíptico, que ela só via num preto e branco difuso nos noticiários do cinema: cenas entrecortadas de batalhas, rostos de soldados cobertos da fuligem inapagável da pólvora e da morte, aviões a regar a terra com bombas que caíam com um absurda elegância, explosões de fogo e de fumo, multidões enfurecidas a dar vivas a Hitler na Alemanha. Já não conseguia recordar bem o seu país, a casa onde crescera nem a língua da sua infância, mas a sua família estava sempre presente nas suas saudades. Mantinha sobre a mesa de cabeceira um retrato do irmão e a última fotografia dos pais, no cais de Danzig, e beijava-os antes de adormecer. As imagens da guerra perseguiam-na de dia, apareciam-lhe nos sonhos e não lhe permitiam comportar-se como a rapariguinha que era.
Quando Nathaniel cedeu ao erro de pensar que era um gênio incompreendido, Ichimei transformou-se no seu único confidente. O rapaz crescera pouco e ela era mais alta que ele meia cabeça, mas era sábio e encontrava sempre maneira de a distrair, quando ela era atormentada pelas imagens horripilantes da guerra. Ichimei arranjava forma de chegar a casa dos Belasco de elétrico, de bicicleta ou na carrinha de jardinagem, quando conseguia que o pai ou o irmão o levassem lá; depois Lillian mandava o motorista levá-lo a casa. Se passavam dois ou três dias sem se verem, as crianças escapuliam-se de noite para falar em murmúrios por telefone. Até os assuntos mais triviais adquiriam uma profundidade transcendental nesses telefonemas às escondidas. A nenhum deles passou pela cabeça pedir autorização para os fazerem; pensavam que o aparelho se gastava com o uso e logicamente não podia estar à disposição deles.
Os Belasco viviam na expectativa das notícias da Europa, cada vez mais confusas e alarmantes. Em Varsóvia, ocupada pelos alemães, havia quatrocentos mil judeus amontoados num gueto de três quilômetros e meio quadrados. Sabiam, porque Samuel Mendel os informara, através de um telegrama enviado de Londres, que os pais de Alma se encontravam entre eles. De nada serviu aos Mendel o seu dinheiro; nos primeiros tempos da ocupação perderam os bens na Polônia e o acesso às contas na Suíça, tiveram de abandonar a mansão familiar, confiscada e transformada em escritórios para os nazis e os seus colaboradores, e ficaram reduzidos à mesma condição inconcebível de miséria do resto dos habitantes do gueto. Descobriram então que não tinham um único amigo entre as suas próprias gentes. Fora tudo o que Isaac Belasco conseguira averiguar. Era impossível comunicar com eles e nenhum dos seus esforços para tentar resgatá-los obteve resultado. Isaac utilizou as suas ligações a políticos influentes, incluindo dois senadores em Washington e o secretário de Estado de Guerra, de quem fora colega em Harvard, mas responderam-lhe com promessas vagas que não cumpriram, porque tinham em mãos assuntos muito mais urgentes do que uma missão de socorro ao inferno de Varsóvia.
Os americanos observavam os acontecimentos num compasso de espera; ainda pensavam que a guerra do outro lado do Atlântico não era da sua responsabilidade, apesar da subtil propaganda do governo de Roosevelt para instigar o público contra os alemães. Atrás do alto muro que marcava a fronteira do gueto de Varsóvia, os judeus sobreviviam a situações extremas de fome e de terror. Falava-se de deportações em massa, de homens, mulheres e crianças arrojados para comboios de mercadorias que desapareciam durante a noite, da vontade dos nazis de exterminar os judeus e outros indesejáveis, das câmaras de gás, dos fornos crematórios e de outras atrocidades impossíveis de confirmar e, portanto, difíceis de conceber para os americanos.
Irina Bazili
Em 2013, Irina Bazili festejou em privado com uma barrigada de pastéis de creme e duas chávenas de chocolate quente o terceiro aniversário do seu emprego com Alma Belasco. Durante esse tempo, ficara a conhecê-la intimamente, embora existissem mistérios na vida daquela mulher que nem ela nem Seth tinham conseguido decifrar, em parte porque também não se tinham dedicado a sério a esse assunto. No conteúdo das caixas de Alma, que ela tinha de organizar, os Belasco foram-se revelando. Foi assim que Irina conheceu Isaac, com o seu severo nariz aquilino e os olhos bondosos; Lillian, de estatura baixa, peito generoso e bela cara; as filhas Sarah e Martha, feias e muito bem vestidas; Nathaniel, em criança, magro e com ar desprotegido; mais tarde, quando era um jovem elegante e muito bonito, e no final, esculpido a cinzel com as mazelas da doença. Viu a menina Alma recém-chegada à América; a jovem de vinte e um anos, em Boston, quando estudava arte, com boina preta e gabardina de detetive, o estilo masculino que adotou depois de se desfazer do enxoval da tia Lillian, de que nunca gostara; como mãe, sentada numa pérgula do jardim de Sea Cliff, com o filho Larry de três meses no colo e o marido de pé atrás, com uma mão no ombro dela, a posar como se fosse para um retrato da realeza. Desce criança, podia adivinhar-se a mulher que Alma iria ser, imponente, com a sua madeixa branca, a boca ligeiramente torta e olheiras depravadas.
Irina devia colocar as fotografias por ordem cronológica nos álbuns, de acordo com as instruções de Alma, que nem sempre recordava onde ou quando tinham sido tiradas. Excetuando o retrato de Ichimei Fukuda, no apartamento dela, apenas havia mais uma foto emoldurada: a família na sala de Sea Cliff, quando Alma festejou os seus cinquenta anos. Os homens estavam vestidos com smoking e as mulheres com vestidos compridos, Alma com um de cetim preto, altiva como uma imperatriz viúva, e a nora, Doris, pálida e cansada, com um vestido de seda cinzenta com pregas à frente para ocultar a segunda gravidez; esperava a filha Pauline. Seth, com um ano e meio, mantinha- se de pé, agarrado com uma mão ao vestido da avó e com a outra à orelha de um cocker spaniel.
Ao longo daquele período juntas, o vínculo entre as duas mulheres foi-se assemelhando ao de uma tia e sobrinha. Tinham adaptado as suas rotinas e podiam partilhar durante horas o reduzido espaço do apartamento sem se falarem e sem se olharem, ambas absortas nas suas coisas. Precisavam uma da outra. Irina sentia-se privilegiada por contar com a confiança e o apoio de Alma e, por seu lado, esta agradecia a fidelidade da rapariga. O interesse de Irina pelo seu passado lisonjeava-a. Dependia
dela para assuntos do dia a dia e para manter a sua independência. Seth recomendara-lhe que, quando chegasse o momento de necessitar de cuidados, regressasse à casa familiar de Sea Cliff ou que contratasse ajuda permanente para o apartamento; tinha dinheiro de sobra para isso. Alma ia fazer oitenta e dois anos e planeava viver mais dez sem esse tipo de ajuda e sem que ninguém decidisse por ela.
— Eu também tinha terror da dependência, Alma, mas apercebi-me de que não é assim tão grave. Uma pessoa habitua-se e agradece a ajuda.
Eu não consigo vestir-me nem tomar banho sozinha, tenho dificuldade em escovar os dentes e em cortar o frango no prato, no entanto nunca me senti tão contente como agora — disse-lhe Catherine Hope, que conseguira ser sua amiga.
— Porquê, Cathy? — perguntou-lhe Alma.
— Porque tenho tempo livre e pela primeira vez na vida ninguém espera nada de mim. Não tenho de demonstrar nada, não ando a correr, todos os dias são uma bênção e aproveito-os intensamente.
Catherine Hope estava neste mundo apenas devido à sua feroz vontade e às maravilhas da cirurgia; conhecia o significado de ficar incapacitada e de viver com dores permanentes. No caso dela a dependência não chegara de forma paulatina, como seria habitual, mas do dia para a noite devido a um passo em falso. Ao escalar uma montanha, caiu e ficou presa entre duas rochas, com as pernas e a pélvis desfeitas. O regate foi uma tarefa heroica, visualizada em pormenor nas notícias da televisão, porque a filmaram do ar. O helicóptero serviu para captar desde longe as cenas dramáticas, mas não conseguiu aproximar-se do desfiladeiro profundo, onde ela jazia em choque e com uma grande hemorragia. Um dia e uma noite mais tarde, dois alpinistas conseguiram descer numa manobra arriscada que quase lhes custou a vida e içaram-na com um arnês. Levaram-na para um hospital especializado em traumas de guerra, onde iniciaram o tratamento para lhe repararem os inúmeros ossos fraturados. Despertou do coma dois meses mais tarde e, depois de perguntar pela filha, declarou que se sentia feliz por estar viva. Precisamente nesse dia o Dalai Lama enviara-lhe da Índia uma kata, o lenço branco de seda com a sua bênção. Após catorze operações dolorosas e anos de intensa reabilitação, Cathy teve de aceitar que não voltaria a andar. «A minha primeira vida terminou, agora começa a segunda.
Vais ver-me deprimida e exasperada, mas não faças caso. Vai passar-me num instante», disse à filha. O budismo zen e o hábito de meditar durante toda a vida revelaram-se uma grande vantagem nas suas circunstâncias, porque suportava a imobilidade, que teria enlouquecido qualquer outra pessoa tão atlética e enérgica como ela, e permitiram-lhe recompor-se com bom humor da perda do companheiro de muitos anos, que teve menos coragem do que ela perante a tragédia e a deixou. Descobriu também que poderia exercer Medicina como consultora em cirurgia, a partir de um gabinete com câmaras de televisão ligadas à sala de cirurgia, mas o que desejava era trabalhar com pacientes, frente a frente, como sempre fizera. Quando optou por viver no segundo nível da Lark House, deu umas voltas para conversar com as pessoas que seriam a sua nova família e deu conta de que havia ali oportunidades de sobra para exercer a sua atividade. Uma semana antes de se mudar já tinha planos para montar uma clínica da dor gratuita, destinada às pessoas com doenças crônicas, assim como um consultório para atender maleitas mais ligeiras. Na Lark House havia médicos externos; Catherine Hope convenceu-os de que não lhes faria concorrência, e em vez disso complementar-se- iam. Hans Voigt proporcionou-lhe uma sala para a clínica e propôs à direção da Lark House que lhe pagasse um salário, porém ela preferiu que não lhe cobrassem as mensalidades, um acordo conveniente para as duas partes. Rapidamente, Cathy, como era chamada, transformou-se na mãe que acolhia os recém-chegados, ouvia as confidências, consolava os tristes, guiava os moribundos e distribuía marijuana. Metade dos residentes possuía receita médica para o seu uso e Cathy, que a distribuía na sua clínica, era generosa com aqueles que não possuíam cartão nem dinheiro para a comprar no mercado paralelo; não era raro ver-se uma fila de clientes à frente da porta dela para obter a erva sob várias formas, inclusive como deliciosos bolos e rebuçados.
Hans Voigt não interferia — para quê privar aquelas pessoas de um alívio inofensivo —, apenas exigia que não se fumasse nos corredores nem nas áreas comuns, já que, se fumar tabaco era proibido, não seria justo que a marijuana não o fosse também; mas algum fumo dispersava-se pelas condutas do aquecimento ou do ar condicionado e, às vezes, os animais de estimação andavam meio desorientados.
Na Lark House, Irina sentia-se segura pela primeira vez em catorze anos. Desde que chegara aos Estados Unidos nunca permanecera tanto tempo num sítio; sabia que a tranquilidade não ia durar e saboreava aquela trégua na sua vida. Nem tudo era idílico, mas, em comparação com os problemas do passado, os do presente eram ínfimos. Precisava de arrancar os dentes do siso, mas o seguro dela não cobria tratamentos dentários. Sabia que Seth Belasco estava apaixonado por ela e ia ser cada vez mais difícil mantê-lo à distância sem perder a sua preciosa amizade. Hans Voigt, que sempre fora calmo e cordial, nos últimos meses tornara-se tão rabugento que alguns dos residentes reuniam-se sub-repticiamente para procurar a melhor forma de o mandar embora sem o ofender; Catherine Hope achava que deviam dar-lhe tempo e a opinião dela ainda prevalecia. O diretor fora duas vezes operado às hemorroidas com resultados pouco fiáveis e isso tinha-lhe azedado o carácter. A preocupação mais premente de Irina era uma invasão de ratos no velho casarão de Berkeley onde vivia. Ouvia-os a arranhar entre as paredes desengonçadas e debaixo do soalho. Os outros inquilinos, instigados por Tim, o sócio dela, decidiram colocar ratoeiras, porque envenená-los pareceu-lhes desumano. Irina defendeu que as ratoeiras também eram cruéis, com a agravante de que alguém teria de recolher os cadáveres, mas não lhe fizeram caso.
Um pequeno roedor ficou vivo dentro de uma ratoeira e foi salvo por Tim, que, compadecido, o entregou a Irina. Era uma daquelas pessoas que se alimentam de verduras e nozes, porque não toleram fazer mal a um animal e menos ainda cometer a maldade de o cozinhar. Irina ficou com a tarefa de enfaixar a pata do rato, colocá-lo numa caixa no meio de algodão e tratar dele até que lhe passasse o susto, pudesse caminhar e regressar para junto dos seus.
Algumas das suas obrigações na Lark House aborreciam-na, como a burocracia das companhias de seguros, lidar com os parentes dos hóspedes que reclamavam por insignificâncias para aliviar a culpa de os terem abandonado, e as aulas obrigatórias de informática, porque assim que aprendia alguma coisa, a tecnologia avançava um pouco mais e ela voltava a ficar para trás. Das pessoas a seu cargo não tinha queixas. Como lhe dissera Cathy, no dia em que entrara na Lark House, nunca se aborrecia. «Há uma diferença entre velhice e ancianidade. Não tem a ver com a idade, mas com o estado de saúde física e mental», explicou-lhe Cathy. «Os idosos podem manter a independência, mas os anciãos precisam de cuidados e vigilância até que chega o momento em que são como crianças.» Irina aprendia muito, tanto com os idosos como com os anciãos, quase todos sentimentais, divertidos e sem medo do ridículo; ria-se com eles e às vezes chorava por eles. Quase todos tinham tido vidas interessantes ou então inventavam-nas. Se pareciam muito perdidos, na generalidade era porque ouviam pouco e mal. Irina estava sempre atenta para que não lhes falhasse a bateria dos aparelhos auditivos. «Qual é a pior coisa de envelhecer?», perguntava-lhes. Não pensavam na idade, respondiam; antes tinham sido adolescentes, depois fizeram trinta anos, cinquenta, sessenta, sem pensar nos anos: porque iriam fazê-lo agora? Alguns tinham muitas limitações, tinham dificuldade em andar e em mover-se, mas não desejavam ir a lado nenhum.
Outros estavam distraídos, confusos e com lapsos de memória, mas isso deixava mais perturbados os cuidadores e familiares do que a eles mesmos. Catherine Hope insistia em que os residentes dos segundo e terceiro níveis se mantivessem ativos e Irina tinha a responsabilidade de os manter interessados, entretidos, ligados. «Em todas as idades é necessário um propósito na vida. É a melhor cura para muitos males», sustentava Cathy. No caso dela, o seu propósito fora sempre ajudar os outros e este não se alterara depois do acidente.
Às sextas-feiras de manhã, Irina acompanhava os residentes mais entusiastas a protestar na rua, para impedir que exagerassem. Participava também nas vigílias por causas nobres e no clube de costura; todas as mulheres capazes de usar agulhas, menos Alma Belasco, estavam a fazer coletes para os refugiados da Síria. O tema recorrente era a paz; podia-se discordar sobre qualquer assunto menos sobre a paz. Na Lark House havia duzentos e quarenta e quatro democratas desiludidos: tinham votado a favor da reeleição de Barak Obama, embora o criticassem pela sua indecisão, por não ter encerrado a prisão de Guantánamo, por deportar os imigrantes latinos, por causa dos drones... Enfim, havia imensos motivos para enviar cartas ao presidente e ao Congresso. A meia dezena de republicanos abstinha-se de opinar em voz alta.
Promover a prática espiritual era também da responsabilidade de Irina. Muitos idosos devotos de uma tradição religiosa refugiavam-se nela, embora tivessem passado sessenta anos a renegar o seu Deus, mas outros procuravam consolo em alternativas esotéricas e psicológicas da Era de Aquário. Irina tratava permanentemente de arranjar guias e professores para meditação transcendental, cursos de milagres, I Ching, desenvolvimento da intuição, estudo da cabala, tarô místico, animismo, reencarnação, percepção psíquica, energia universal e vida extraterrestre.
Era ela a responsável por organizar a celebração de festividades religiosas, um pot-pourri de rituais de várias crenças, para que ninguém se sentisse excluído. No solstício de verão levava um grupo de anciãs até às florestas próximas e dançavam em círculo ao som de pandeiretas, descalças e coroadas de flores. Os guardas florestais conheciam-nas e disponibilizavam-se para lhes tirarem fotografias abraçadas às árvores a falar com Gaia, a deusa da Terra, e com os seus mortos. Irina deixou de se rir para dentro quando conseguiu ouvir os seus avós no tronco de uma sequoia, um desses gigantes milenários que unem o nosso mundo com o mundo dos espíritos, como lhe fizeram saber as dançarinas octogenárias. Costea e Petruta não foram muito conversadores em vida e também não o eram dentro da sequoia, mas o pouco que disseram convenceu a neta de que velavam por ela. No solstício de inverno, Irina improvisava cerimônias dentro de portas, porque Cathy a prevenira em relação às pneumonias se fizessem os festejos no meio da umidade e do vento agreste da floresta.
O salário da Lark House era suficiente apenas para viver como uma pessoa normal, porém as ambições de Irina eram tão humildes e as necessidades tão insignificantes que às vezes lhe sobrava dinheiro. Os ganhos com o banho dos cães e como assistente de Alma, que procurava sempre razões para lhe pagar mais, faziam com que se sentisse rica. A Lark House transformara-se na sua casa e os residentes, com quem convivia diariamente, substituíam os seus avós. Sentia-se comovida com aqueles anciãos lentos e torpes, cheios de achaques, macilentos... tinha uma paciência infinita com os problemas deles, não se importava de repetir mil vezes a mesma resposta à mesma pergunta, gostava de empurrar uma cadeira de rodas, animar, ajudar, consolar. Aprendeu a afastar os impulsos de violência, que às vezes se apoderavam deles como tempestades passageiras, e não ficava assustada com a avareza e as manias de perseguição que alguns sentiam como consequência da solidão.
Tentava perceber o significado de carregar o inverno às costas, a insegurança em cada passo, a confusão perante as palavras que não se ouvem bem, a sensação de que o resto da humanidade anda muito apressado e fala muito depressa, o vazio, a fragilidade, a fadiga e a indiferença perante o que não lhes diga diretamente respeito, inclusive filhos e netos, cuja ausência já não pesa como antes e é necessário fazer um esforço para os recordar. Sentia ternura pelas rugas, os dedos deformados e a falta de visão. Imaginava como iria ela ser quando fosse idosa, anciã.
Alma Belasco não encaixava nessa categoria; não tinha de cuidar dela, pelo contrário, sentia que era ela quem cuidava de si e agradecia o papel de sobrinha desamparada que a mulher lhe atribuíra. Alma era pragmática, agnóstica e, no essencial, incrédula, nada de cristais, zodíaco ou árvores falantes; com ela, Irina encontrava alívio para as suas dúvidas. Desejava ser como Alma e viver numa realidade manipulável, onde os problemas tinham causa, efeito e solução, onde não existiam seres aterradores escondidos nos sonhos nem inimigos luxuriosos a espreitar em todos os cantos. As horas com ela eram preciosas e de boa vontade trabalharia de forma gratuita. Uma vez propusera-o. «Eu tenho dinheiro em excesso e tu tens falta dele. Não se fala mais nisso», respondeu Alma num tom autoritário que quase nunca usava com ela.
Seth Belasco
Alma Belasco saboreava o pequeno-almoço sem presa, via as notícias na televisão e depois ia à aula de yoga ou caminhar durante uma hora. De regresso tomava um duche, vestia-se e quando calculava que estava na hora de chegar a empregada de limpeza escapava para a clínica para ajudar a sua amiga Cathy. O melhor tratamento para a dor era manter os pacientes entretidos e em movimento. Cathy estava sempre a precisar de voluntários na clínica e pedira a Alma que desse aulas de pintura em seda, mas isso exigia espaço e materiais que ali ninguém tinha possibilidades de custear. Cathy recusou- se a aceitar que Alma suportasse todos os gastos, porque não seria bom para o moral dos participantes, ninguém gosta de ser alvo de caridade, como disse. Assim sendo, Alma recorria à sua antiga experiência no sótão em Sea Cliff com Nathaniel e Ichimei para improvisar peças de teatro que não custavam dinheiro e provocavam tempestades de riso. Três vezes por semana, ia ao atelier pintar com Kirsten. Raras vezes frequentava a cantina da Lark House, preferia comer nos restaurantes do bairro, onde era conhecida, ou no seu apartamento, quando a nora lhe enviava pelo motorista algum dos seus pratos preferidos.
Irina mantinha o indispensável na cozinha: fruta fresca, aveia, leite, pão integral, mel. Era também ela a responsável por classificar os papéis, tomar notas, ir às compras e à lavandaria, acompanhar Alma nas suas diligências, tomar conta do gato, do calendário e por organizar a escassa vida social.
Frequentemente, Alma e Seth convidavam-na para o almoço dominical obrigatório em Sea Cliff, em que a família prestava vassalagem à matriarca. Para Seth, que antes recorria a todo o tipo de desculpas para chegar à hora da sobremesa, já que a ideia de faltar nem sequer lhe passava pela cabeça, a presença de Irina dava um intenso colorido à ocasião. Continuava a persegui-la com tenacidade, mas, como os resultados deixavam muito a desejar, saía também com amigas do passado dispostas a suportar as suas veleidades. Não se divertia com elas nem conseguia provocar ciúmes a Irina. Como dizia a avó, para quê desperdiçar munições com abutres; esse era outro dos ditados enigmáticos que circulavam entre os Belasco. Para Alma estas reuniões familiares começavam com a alegre satisfação de ver os seus, especialmente a neta Pauline, pois via Seth com frequência, mas muitas vezes acabavam por ser muito maçadoras, porque qualquer assunto servia de pretexto para se irritarem, não por falta de carinho, mas pelo mau hábito de discutirem por insignificâncias. Seth procurava motivos para desafiar e escandalizar os pais; Pauline aparecia empenhada em alguma causa, que explicava ao pormenor, como a mutilação genital e os matadouros de animais; Doris esmerava-se por oferecer as suas melhores experiências culinárias, verdadeiros banquetes, e costumava acabar a chorar no quarto, porque ninguém os apreciava, enquanto o bom Larry fazia malabarismos para evitar atritos. A avó usava Irina para mitigar as tensões, já que os Belasco se comportavam civilizadamente diante de estranhos, embora ela fosse uma insignificante funcionária da Lark House. A mansão de Sea Cliff parecia à rapariga de um luxo extravagante, com os seus seis quartos, dois salões, biblioteca forrada de livros, escada dupla em mármore e um jardim palaciano.
Não se apercebia da lenta deterioração de quase um século de existência, que a cuidadosa vigilância de Doris conseguia manter a custo sob controlo, como a ferrugem das grades ornamentais, as ondulações do chão e das paredes, que tinham suportado dois terremotos, os mosaicos rachados e as marcas das térmitas na madeira. A casa erguia-se num sítio privilegiado sobre um promontório entre o oceano Pacífico e a baía de São Francisco. Ao amanhecer, o espesso nevoeiro que chegava rodopiando do lado do mar, como uma avalancha de algodão, costumava ocultar por completo a ponte Golden Gate, mas ao longo da manhã dissipava-se e então surgia a esbelta escultura de ferro vermelho contra o céu salpicado de gaivotas, tão próxima do jardim dos Belasco que se tinha a ilusão de a poder tocar com a mão.
Do mesmo modo que Alma se transformou na tia adotiva de Irina, Seth assumiu o papel de primo, visto que não teve sucesso com o papel de amante que desejava. Ao longo daqueles três anos juntos, a relação dos jovens, ancorada na solidão de Irina, na paixão mal disfarçada de Seth e na curiosidade de ambos por Alma Belasco foi-se tornando mais sólida. Outro homem menos teimoso e apaixonado do que Seth ter-se-ia dado por vencido há já muito tempo; no entanto, ele aprendeu a dominar a sua impetuosidade e adaptou-se ao passo de caracol imposto por Irina. Não lhe servia de nada ser impaciente, porque ao menor sinal de intrusão ela retrocedia, e depois passavam semanas até ele conseguir recuperar o terreno perdido. Se se tocavam por casualidade, ela desviava o corpo, e se ele o fazia intencionalmente, ela ficava assustada. Seth procurou em vão algo que justificasse aquela desconfiança, mas ela tinha selado o seu passado. A primeira vista, ninguém podia adivinhar o verdadeiro carácter de Irina, que conseguira ganhar o título da funcionária mais querida da Lark House, com a sua atitude aberta e afável, porém ele sabia que por trás daquela máscara se escondia um animal assustado.
Durante esses anos o livro de Seth foi adquirindo forma sem grande esforço da parte dele, graças ao material com que a sua avó contribuía e à simpatia de Irina. Em Alma recaiu a responsabilidade de compilar a história dos Belasco, os únicos parentes que lhe restavam depois de a Guerra ter varrido os Mendel da Polônia e antes de o irmão dela ressuscitar. Os Belasco não se encontravam entre as famílias mais ilustres de São Francisco, embora estivessem entre as mais poderosas, e podiam traçar as suas origens até à época da febre do ouro. Entre eles, destacava-se David Belasco, diretor e produtor teatral, empresário e autor de mais de cem obras, que abandonou a cidade em 1882 e trinfou na Broadway. O bisavô Isaac pertencia à linhagem que ficou em São Francisco, onde criou raízes e fez fortuna com um sólido escritório de advogados e bom olho para o investimento.
A Seth, como a todos os varões da sua estirpe, coube ser sócio do escritório, embora não possuísse o instinto combativo das gerações anteriores. Concluíra a licenciatura por obrigação e era advogado porque tinha pena dos clientes e não por confiar no sistema judicial ou por cobiça. A irmã, Pauline, dois anos mais nova, estava mais bem preparada para aquele trabalho ingrato, só que isso não o eximia dos seus deveres para com a empresa. Fizera trinta e dois anos e ainda não assentara, como criticava o pai; continuava a deixar os casos difíceis para a irmã, divertindo-se sem se preocupar com os gastos e oscilando entre meia dúzia de namoradas passageiras. Apregoava a sua vocação de poeta e de corredor de motos para impressionar as amigas e assustar os pais, mas não pensava em abdicar dos proventos seguros do escritório de advogados.
Não era cínico, apenas preguiçoso para o trabalho e alvoroçado para todo o resto. Foi o primeiro a ficar surpreendido quando descobriu que se acumulavam páginas de um manuscrito na pasta onde devia transportar os documentos para o tribunal. Aquela pesada pasta de couro amarelo, com as iniciais do avô gravadas a ouro, era um anacronismo em plena era digital, porém Seth usava-a pressupondo que teria poderes sobrenaturais, a única explicação possível para a multiplicação espontânea do seu manuscrito. As palavras surgiam sozinhas no ventre fértil da pasta e passeavam tranquilamente pela geografia da sua imaginação. Eram duzentas e quinze páginas escritas em lampejos criativos, que não se tinha dado ao trabalho de corrigir, porque o seu plano consistia em contar tudo o que pudesse averiguar da avó, acrescentar contributos do seu próprio punho e depois pagar a um escritor anônimo e a um editor responsável para que dessem forma ao livro e o aperfeiçoassem. Sem a insistência de Irina em lê-las e a desfaçatez dela para as criticar, que o obrigavam a produzir com regularidade maços de dez ou quinze folhas, aquelas páginas nunca teriam existido; assim se iam acumulando e assim também, sem se ter proposto a isso, ele ia-se transformando num romancista.
Seth era o único membro da família de que Alma sentia saudade, ainda que nunca o admitisse. Quando passavam alguns dias sem que ele a visitasse, começava a ficar de mau humor e rapidamente inventava uma desculpa para solicitar a presença dele. O neto não se fazia esperar. Chegava como um furacão, com o capacete da moto debaixo do braço, o cabelo despenteado, as faces vermelhas e um pequeno presente para ela e para Irina: alfajores de doce de leite, sabonete de amêndoas, papel de desenho, um filme de zombies noutra galáxia. Se não encontrava a rapariga a desilusão dele era evidente, mas Alma fingia não dar conta. Cumprimentava a avó com uma palmada no ombro e ela respondia com um resmungo, como sempre; tratavam-se como camaradas de aventura, com franqueza e cumplicidade, sem demonstrações de afeto, que consideravam kitsch.
Conversavam longamente e com a desfaçatez das comadres coscuvilheiras: primeiro faziam um comentário rápido às notícias da atualidade, incluindo as da família, e a seguir abordavam os assuntos que realmente lhes interessavam. Estavam eternizados num passado mitológico de episódios e histórias improváveis, épocas e personagens anteriores ao nascimento de Seth. Com o neto, Alma revelava-se uma narradora fantasiosa, evocava intacta a mansão de Varsóvia, onde decorreram os primeiros anos da sua existência, com as sombrias divisões com móveis monumentais e as empregadas de uniforme a deslizar coladas às paredes sem levantar o olhar, acrescentando-lhe porém um pônei cor de trigo de longas crinas que acabava transformado em guisado nos tempos da fome. Alma resgatava os bisavós Mendel e devolvia-lhes tudo o que os nazis tinham levado, sentava-os à mesa da Páscoa com os candelabros e os talheres de prata, as taças de cristal francesas, a porcelana da Baviera e as toalhas bordadas por freiras de um convento espanhol. Nos episódios mais trágicos a sua eloquência era tal que Seth e Irina julgavam estar com os Mendel, a caminho de Treblinka; viajavam com eles dentro do vagão de mercadorias entre centenas de infelizes, desesperados e sedentos, sem ar nem luz, a vomitar, a defecar, a agonizar; entravam com eles, nus, na câmara dos horrores, e desapareciam com eles no fumo das chaminés. Alma falava-lhes também do bisavô Isaac Belasco, contava-lhes que morrera num mês de primavera, numa noite em que caíra uma tempestade de saraiva que destruiu o jardim por completo, que tivera dois funerais, porque no primeiro não coube toda a gente que quis prestar-lhe homenagem, centenas de brancos, negros, asiáticos, latinos e outros que lhe deviam favores desfilaram no cemitério e o rabino teve de repetir a cerimônia; e da bisavó Lillian, eternamente enamorada do marido, que no mesmo dia em que ficou viúva perdeu a visão e ficou nas trevas os anos que lhe restavam, sem que os médicos conseguissem dar com a causa.
Falava também dos Fukuda e da evacuação dos japoneses como algo que a traumatizara na infância, sem dar especial importância à sua relação com Ichimei Fukuda.
Os Fukuda
Takao Fukuda vivia nos Estados Unidos desde os vinte anos sem desejo de se adaptar. À semelhança de muitos Isei, imigrantes japoneses de primeira geração, não desejava fundir-se na redoma americana, como faziam outras raças oriundas dos quatro pontos cardeais. Sentia orgulho na sua cultura e na sua língua, que mantinha intactas e procurava inutilmente transmiti-las aos descendentes, seduzidos pela grandiosidade da América. Admirava muitos aspetos dessa terra imensa onde o horizonte se confundia com o céu, mas não conseguia evitar um sentimento de superioridade, que jamais deixava transparecer fora da sua casa, porque seria uma imperdoável falta de cortesia para com o país que o acolhera. Com o passar dos anos ia caindo inexoravelmente nos embustes da nostalgia, as razões pelas quais abandonara o Japão iam-se desvanecendo e acabou por idealizar os mesmos costumes bafientos que o instigaram a emigrar. Sentia-se chocado com a prepotência e o materialismo dos americanos, que aos seus olhos não eram uma demonstração de carácter e sentido prático, mas de vulgaridade; sofria ao constatar que os filhos imitavam os valores individualistas e a conduta dos brancos. Os seus quatro filhos tinham nascido na Califórnia, porém tinham sangue japonês por parte do pai e da mãe, não havia nada que justificasse a sua indiferença para com os antepassados e a falta de respeito pelas hierarquias.
Ignoravam o lugar que por direito correspondia a cada um; haviam sido contagiados pela ambição insensata dos americanos, a quem nada parecia impossível. Takao sabia que também nos aspetos vulgares os filhos o atraiçoavam: bebiam cerveja até perder a consciência, mascavam chicletes como ruminantes e dançavam os agitados ritmos da moda com o cabelo lambido e sapatos de duas cores. De certeza que Charles e James procuravam cantos escuros para apalpar raparigas de moral duvidosa, mas acreditava que Megumi não fazia tais indecências. A filha copiava a moda ridícula das raparigas americanas e lia às escondidas as revistas cor de rosa e de gentinha do cinema, que ele proibira, mas era boa aluna e, pelo menos aparentemente, era obediente. Takao apenas conseguia controlar Ichimei, no entanto rapidamente o rapazinho iria fugir-lhe das mãos e transformar-se num estranho, como os irmãos. Era esse o preço de viver na América.
Em 1912, Takao Fukuda deixara a família e emigrara por razões metafísicas, mas esse fator perdera importância nas suas evocações e questionava-se, frequentemente, porque havia tomado uma decisão tão drástica. O Japão abrira-se à influência estrangeira e muitos homens jovens emigravam para outras paragens em busca de melhores oportunidades, porém entre os Fukuda considerava-se o abandono da pátria como uma traição irreparável. A família tinha origens de tradição militar, tinham vertido o seu sangue pelo imperador durante séculos. Por ser o único varão, entre as quatro crianças que sobreviveram às doenças e acidentes da infância, era o depositário da honra da família, responsável pelos pais e pelas irmãs, e estava encarregado de venerar os seus antepassados no altar doméstico nas festividades religiosas. No entanto, aos quinze anos descobriu o Oomoto, o caminho dos deuses, uma nova religião derivada do xintoísmo que começava a surgir no Japão, e sentiu que por fim encontrara uma orientação para guiar o seu caminho na vida.
De acordo com os líderes espirituais, quase sempre mulheres, podem existir muitos deuses, mas todos são na essência o mesmo e não importa o nome ou os rituais com que se honrem; deuses, religiões, profetas e mensageiros ao longo da história têm origem todos na mesma fonte: o Deus Supremo do Universo, o Espírito Único, que faz parte de tudo o que existe. Com a ajuda do ser humano, Deus tenta purificar e reconstruir a harmonia do universo e quando essa tarefa for concluída, Deus, a humanidade e a natureza coexistirão harmoniosamente na terra e no âmbito espiritual. Takao entregou-se por completo à sua fé. A Oomoto predicava a paz, alcançável unicamente através da virtude pessoal, e o jovem compreendeu que o seu destino não podia ser uma carreira militar, como era apanágio dos homens da sua estirpe. Ir viver para longe pareceu-lhe a única saída, porque ficar e renunciar às armas seria tomado como uma cobardia imperdoável, a pior afronta que poderia fazer à sua família. Tentou explicá-lo ao pai e só conseguiu partir-lhe o coração, mas expôs as suas razões com tal fervor que este acabou por aceitar que perderia o filho. Os jovens que partiam nunca mais regressavam. A desonra lava-se com sangue. A morte pelas próprias mãos seria preferível, disse-lhe o pai, porém essa alternativa ia contra os princípios da Oomoto.
Takao chegou à costa da Califórnia com duas mudas de roupa, um retrato dos pais pintado à mão e a espada de samurai que estava na sua família há sete gerações. O pai a entregara no momento da despedida, pois não podia dá-la a nenhuma das filhas, e embora o jovem nunca a fosse utilizar, pertencia-lhe por direito. Essa katana era o único tesouro que possuía dos Fukuda, feita do melhor aço forjado e voltado a forjar dezasseis vezes por antigos artesãos, com punho lavrado em prata e bronze, numa bainha de madeira decorada com verniz vermelho e lâminas de ouro. Takao viajou com a katana enrolada em sacos para a proteger, mas a sua forma alongada e curva era inconfundível.
Os homens que com ele conviveram na ré do barco durante a cansativa travessia trataram-no com a devida referência, porque a arma provava que era originário de uma linhagem gloriosa.
Ao desembarcar, recebeu imediatamente ajuda da minúscula comunidade Oomoto de São Francisco e ao fim de poucos dias conseguiu emprego como jardineiro com um compatriota. Longe do olhar do pai, para quem um soldado não suja as mãos com terra, só com sangue, predispôs-se a aprender o ofício com empenho e em pouco tempo fez bom nome entre os Isei que viviam da agricultura. Era incansável no trabalho, vivia frugal e virtuosamente, como exigia a sua religião, e em dez anos poupou os oitocentos dólares necessários para encomendar uma esposa do Japão. A casamenteira ofereceu-lhe três candidatas e ele escolheu a primeira, porque gostou do nome dela. Chamava-se Heideko. Takao foi esperá-la ao cais vestido com o seu único fato, em terceira mão, com brilho nos cotovelos e nas nádegas, mas de bom corte, com sapatos engraxados e um chapéu de panamá, que comprou em Chinatown. A noiva migratória revelou ser uma camponesa mais nova do que ele dez anos, de corpo robusto, rosto sereno, temperamento firme e língua afiada, muito menos submissa do que a casamenteira lhe dissera, como verificou desde o primeiro instante. Depois de ter recuperado da surpresa, aquele carácter forte pareceu a Takao uma vantagem.
Heideko chegou à Califórnia com muito poucas ilusões. No barco, onde partilhara o espaço em que a instalaram com uma dezena de raparigas da mesma condição, ouvira histórias lancinantes de virgens inocentes como ela, que desafiavam os perigos do oceano para se casarem com jovens poderosos da América, mas que no cais eram esperadas por velhos pobretões, ou no pior dos casos chulos que as vendiam aos prostíbulos ou como escravas para fábricas clandestinas.
Não fora o caso dela, porque Takao Fukuda lhe enviara um retrato recente e não a enganou sobre a sua situação; fez-lhe saber que apenas lhe podia oferecer uma vida de esforço e trabalho, no entanto honrada e menos difícil do que a da sua aldeia no Japão. Tiveram três filhos, Charles, Megumi e James; anos mais tarde, quando Heideko julgara que tinha perdido a fertilidade, veio Ichimei em 1932, prematuro e tão débil que pensaram que não sobreviveria e, por isso, nos primeiros meses não teve nome. A mãe fortaleceu-o como pôde com infusões de ervas, sessões de acupuntura e água fria, até que milagrosamente começou a dar mostras de que ia sobreviver. Ao contrário dos irmãos, que receberam nomes anglo-saxônicos, fáceis de pronunciar na América, a ele deram-lhe um nome japonês. Chamaram-no Ichimei, que significa: vida, luz, brilho ou estrela, dependendo do kanji, ou ideograma, que se utilize para o escrever. Desde os três anos que o menino nadava como um congro, primeiro nas piscinas locais e depois nas águas geladas da baía de São Francisco. O pai moldou-lhe o carácter com o trabalho físico, o amor pelas plantas e as artes marciais.
Na época em que Ichimei nasceu, a família Fukuda suportava com dificuldade os duros anos da Depressão. Arrendavam terra nos arredores de São Francisco, onde cultivavam vegetais e árvores de fruto para abastecerem os mercados locais. Takao completava o salário a trabalhar para os Belasco, a primeira família que lhe deu emprego quando ele se tornou independente do compatriota que o iniciou na jardinagem. A sua boa reputação serviu para que Isaac Belasco o contactasse para fazer o jardim de uma propriedade que adquirira em Sea Cliff, onde pensava construir uma casa para albergar os seus descendentes durante cem anos, como disse em tom de brincadeira ao arquiteto, sem imaginar que ia ser verdade.
O seu escritório de advogados nunca tivera falta de dinheiro, porque representava a Companhia Ocidental de Transportes Ferroviários e de Navegação da Califórnia; Isaac era dos poucos donos de empresas que não sofrera durante a crise econômica. Aplicava o seu dinheiro em ouro e investiu-o em barcos de pesca, numa serração, oficinas mecânicas, uma lavandaria e outros negócios semelhantes. Fê-lo a pensar em empregar alguns dos desesperados que faziam filas por um prato de sopa nas cantinas de caridade, para lhes aliviar a miséria, mas o seu propósito altruísta trouxe-lhe inesperados benefícios. Enquanto edificava a casa de acordo com os caprichos disparatados da mulher, Isaac partilhava com Takao o sonho de reproduzir a natureza de outras latitudes numa colina de penhascos exposta ao nevoeiro e ao vento. No processo de passagem para o papel dessa visão desmesurada, Isaac Belasco e Takao Fukuda desenvolveram uma relação cortês. Leram juntos os catálogos, selecionaram e encomendaram a outros continentes as árvores e as plantas, que chegaram envolvidas em sacos molhados com a terra original agarrada às raízes; juntos decifraram o manual e montaram a estufa de cristal trazida de Londres, peça a peça, como um puzzle; e juntos haveriam de manter vivo aquele eclético jardim do Éden.
A indiferença de Isaac Belasco em relação à vida social e à maioria dos assuntos familiares, que delegava por completo nas mãos de Lillian, era compensada por uma irrefreável paixão pela botânica. Não fumava nem bebia, não tinha vícios conhecidos ou tentações irresistíveis; era incapaz de apreciar a música ou a boa mesa e, se Lillian lho tivesse permitido, ter-se-ia alimentado com o mesmo pão saloio e a sopa de pobre dos desempregados da Depressão, em pé na cozinha. Um homem assim era imune à corrupção e à vaidade.
Para ele o importante era a inquietude intelectual, a paixão para defender os clientes através de artifícios de litigante e a debilidade secreta para ajudar os necessitados; mas nenhum destes prazeres se comparava ao da jardinagem. Um terço da sua biblioteca era constituído por livros de botânica. A cerimoniosa amizade com Takao Fukuda, baseada na admiração mútua e no amor à natureza, chegou a ser indispensável para a sua paz de espírito, o bálsamo necessário para as suas frustrações com a lei. No seu jardim, Isaac Belasco transformava-se num humilde aprendiz do mestre japonês, que lhe revelava os segredos do mundo vegetal, que frequentemente os livros de botânica não esclareciam. Lillian adorava o marido e cuidava dele com diligência de enamorada, mas nunca o desejava tanto como quando o via da varanda, a trabalhar lado a lado com o jardineiro. Com fato-macaco, botas e chapéu de palha, a suar com o sol a pique ou molhado pela morrinha, Isaac rejuvenescia, e aos olhos de Lillian voltava a ser o namorado apaixonado que a seduzira aos dezanove anos ou o recém-casado que a agarrava nas escadas antes de chegar à cama.
Dois anos após a chegada de Alma para viver naquela casa, Isaac Belasco associou-se a Takao Fukuda para criar um viveiro de flores e plantas decorativas, acalentando o sonho de o tornar o melhor da Califórnia. A primeira coisa a fazer seria comprar umas parcelas de terra no nome de Isaac, de modo a contornar a lei promulgada em 1913, que impedia os Isei de obter a cidadania, possuir terras ou comprar propriedades. Para Fukuda era uma oportunidade única e para Belasco um investimento prudente, à semelhança de outros que fizera durante os anos dramáticos da Depressão. Nunca se interessara pelas subidas e descidas da Bolsa de Valores, preferia investir em fontes de trabalho. Os dois homens associaram-se acordando que quando Charles, o filho mais velho de Takao, atingisse a maioridade e os Fukuda pudessem comprar a parte de Belasco, ao preço da época, trespassariam o viveiro para o nome de Charles e dariam por terminada a sociedade.
Charles, por ter nascido nos Estados Unidos, era cidadão americano. Foi um acordo de cavalheiros, selado com um simples aperto de mão.
Ao jardim dos Belasco não chegavam os ecos da campanha de difamação contra os japoneses, a quem a propaganda acusava de fazerem concorrência desleal aos agricultores e pescadores americanos, ameaçarem as mulheres brancas com a sua insaciável luxúria e de corromperem a sociedade com os seus costumes orientais e anticristãos. Alma não teve conhecimento desses preconceitos senão dois anos após a sua chegada a São Francisco, quando da noite para o dia os Fukuda se transformaram no perigo amarelo. Nessa época, ela e Ichimei eram amigos inseparáveis.
O ataque-surpresa do Império Japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, destruiu dezoito barcos da frota, deixou um rasto de dois mil e quinhentos mortos e mil feridos e alterou em menos de vinte e quatro horas a mentalidade pró-exílio dos norte- americanos. O presidente Roosevelt declarou guerra ao Japão e, poucos dias depois, Hitler e Mussolini, aliados do Império do Sol Nascente, declararam-na aos Estados Unidos. O país mobilizou-se para participar naquela guerra, que ensanguentava a Europa desde há dezoito meses. A reação em massa de terror que o ataque do Japão provocou entre os americanos foi avivada por uma campanha histérica da imprensa, advertindo sobre a iminente invasão dos “amarelos” na costa do Pacífico. O ódio que existia há mais de um século contra os asiáticos exacerbou-se. Japoneses que viviam há anos no país, os filhos e os netos, passaram a ser suspeitos de espionagem e de colaborar com o inimigo. As rusgas e as detenções começaram de imediato. Bastava um rádio de onda curta num barco, o único meio de comunicação dos pescadores com terra, para deter o dono.
A dinamite usada pelos camponeses para arrancar troncos e rochas dos campos de semeadouro era considerada prova de terrorismo. Confiscavam desde espingardas de perdiz até facas de cozinha e ferramentas de trabalho; faziam o mesmo a binóculos, câmaras fotográficas, estátuas religiosas, quimonos de cerimônia e documentos em língua estrangeira. Dois meses mais tarde, Roosevelt assinou a ordem para evacuar, por razões de segurança militar, todas as pessoas de origem japonesa da costa do Pacífico — Califórnia, Oregon, Washington —, onde as tropas amarelas podiam levar a cabo a temida invasão. Foram também declaradas zonas militares: Arizona, Idaho, Montana, Nevada e Utah. O exército dispunha de três semanas para construir os refúgios necessários.
Em março, São Francisco amanheceu coberto com avisos de evacuação da população japonesa, cujo significado Takao e Heideko não compreenderam, mas que lhes foi explicado pelo filho Charles. Para começar, não podiam sair de um raio de oito quilômetros das suas casas sem uma autorização especial e deviam respeitar o toque de recolher obrigatório noturno, desde as oito da tarde até às seis da manhã. As autoridades começaram a invadir casas e a confiscar bens, prenderam os homens influentes que poderiam incitar à traição, chefes de comunidades, diretores de empresas, professores, pastores religiosos, e levaram-nos para destino desconhecido; para trás ficaram mulheres e crianças assustadas. Os japoneses tiveram de vender depressa e a preço de saldo o que possuíam e foram obrigados a encerrar os locais comerciais. Em breve descobriram que as suas contas haviam sido congeladas; estavam arruinados. O viveiro de Takao Fukuda e Isaac Belasco não chegou a tornar-se realidade.
Em agosto já tinham sido deslocados mais de vinte mil homens, mulheres e crianças; estavam a arrancar anciãos de hospitais, bebés de orfanatos e doentes mentais dos asilos para os internarem em dez campos de concentração em zonas isoladas do interior, enquanto nas cidades ficavam bairros fantasmagóricos de ruas desoladas e casas vazias, onde vagueavam os animais de estimação abandonados e os espíritos confusos dos antepassados chegados à América com os imigrantes.
A medida destinava-se a proteger tanto a costa do Pacífico como os japoneses, que podiam ser vítimas da ira do resto da população; era uma solução temporária e seria cumprida de forma humanitária. Esse era o discurso oficial, mas a linguagem do ódio já se espalhara. «Uma víbora é sempre uma víbora, onde quer que ponha os ovos. Um japonês americano nascido de pais japoneses, formado nas tradições japonesas, a viver num ambiente transplantado do Japão, inevitavelmente, salvo raríssimas exceções, cresce como um japonês e não como um americano. São todos inimigos.» Bastava ter um bisavô nascido no Japão para fazer parte da categoria de víbora.
Assim que Isaac Belasco soube da evacuação, dirigiu-se a casa de Takao para lhe oferecer ajuda e garantir que a ausência dele seria breve; porque a evacuação era anticonstitucional e violava os princípios da democracia. O sócio japonês respondeu com uma vênia profunda, comovido com a amizade daquele homem, pois durante aquelas semanas a família fora alvo de insultos, desprezo e agressões de outros brancos. Shikata ga nai, não há nada a fazer, respondeu Takao. Era o lema das suas gentes na adversidade. Perante a insistência de Belasco, atreveu-se a pedir-lhe um favor especial: que lhe desse permissão para enterrar a espada dos Fukuda no jardim de Sea Cliff. Conseguira escondê-la dos agentes que lhe tinham revistado a casa, mas não estava num lugar seguro. A espada representava a coragem dos seus antepassados e o sangue derramado pelo Imperador, não podia ficar exposta a nenhum tipo de desonra.
Nessa mesma noite os Fukuda, vestidos com quimonos brancos da religião Oomoto, foram até Sea Cliff, onde Isaac e o filho Nathaniel os receberam de fato escuro, com os yarmulkes que utilizavam nas raras ocasiões em que iam à sinagoga. Ichimei trazia o seu gato num canastro tapado por um pano e entregou-o a Alma para que cuidasse dele por algum tempo.
— Como se chama? — perguntou-lhe a menina.
— Neko. Em japonês quer dizer gato.
Lillian, acompanhada pelas filhas, serviu chá a Heideko e Megumi numa das salas do primeiro andar, enquanto Alma, sem compreender o que estava a acontecer mas consciente da solenidade do momento, seguia os homens esgueirando-se entre as sombras das árvores, com o canastro do gato nos braços. Desceram pela colina através dos pátios do jardim, iluminados com candeeiros a petróleo, até ao sítio em frente ao mar, onde tinham aberto uma vala. Takao ia à frente com a espada nos braços, envolta em seda branca, seguido pelo seu primogênito, Charles, com o estojo metálico que tinham mandado fazer para a proteger; James e Ichimei iam atrás e Isaac e Nathaniel Belasco fechavam o cortejo. Takao, com lágrimas que não tentava esconder, rezou durante alguns minutos, em seguida colocou a arma no estojo que o filho segurava e ajoelhou-se, com a cabeça na terra, enquanto Charles e James baixavam a katana para a cova e Ichimei lhe espalhava por cima punhados de terra. Depois cobriram o buraco e alisaram o solo com pás. «Amanhã vou plantar crisântemos brancos para marcar o sítio», disse Isaac Belasco com a voz rouca de emoção, ajudando Takao a pôr-se de pé.
Alma não se atreveu a correr em direção a Ichimei porque adivinhou que existia uma razão imperiosa para excluir as mulheres daquela cerimônia. Esperou que os homens regressassem a casa para agarrar Ichimei e arrastá-lo para um canto escondido.
O rapaz explicou-lhe que não voltaria no sábado seguinte nem em nenhum outro dia durante um tempo, talvez semanas ou meses, e que também não poderiam falar pelo telefone. «Por quê? Por quê?», gritou Alma, sacudindo-o, mas Ichimei não pôde responder-lhe. Ele tão-pouco sabia porque deviam partir, ou para onde.
O perigo amarelo
Os Fukuda entaiparam as janelas e puseram um cadeado na porta da entrada. Tinham pago o aluguer do ano inteiro, mais uma parcela destinada a comprar a casa assim que a pudessem pôr no nome de Charles. Deram o que não puderam ou não quiseram vender, porque os especuladores lhes ofereciam dois ou três dólares por objetos que valiam vinte vezes mais. Tiveram muito poucos dias para se desfazer dos bens, fazer uma mala por pessoa com o que pudessem carregar, e apresentar-se nos autocarros da vergonha. Deviam apresentar-se voluntariamente, caso contrário seriam presos e enfrentariam acusações de espionagem e traição em tempo de guerra. Uniram- se a centenas de outras famílias, que se dirigiam em passo lento, vestidas com as suas melhores roupas, as mulheres de chapéu, os homens de gravata, as crianças com botins de verniz, ao Centro de Controlo Civil, para onde tinham sido convocados. Entregavam- se porque não havia alternativa e porque assim demonstravam a sua lealdade aos Estados Unidos e o seu repúdio pelos ataques do Japão. Era a sua contribuição para o esforço da guerra, como diziam os dirigentes da comunidade japonesa, e muito poucas vozes se levantaram para os contradizer. Os Fukuda foram enviados para o campo de Topaz, numa zona desértica do Utah, mas só iriam sabê-lo em setembro; iam passar seis meses à espera num hipódromo.
Os Isei, habituados à discrição, obedeceram às ordens sem ripostar, mas não conseguiram impedir alguns jovens de segunda geração, Nisei, de se insurgirem abertamente; esses foram separados das famílias e enviados para Tule Lake, o campo de concentração mais rigoroso, onde sobreviveriam como criminosos durante os anos da guerra. Ao longo das ruas os brancos eram testemunhas daquela desoladora procissão de pessoas que conheciam: os donos do armazém onde faziam as compras diárias, os pescadores, jardineiros e carpinteiros com quem se relacionavam, os colegas de escola dos filhos, os vizinhos. A maioria observava em perturbado silêncio, mas não faltavam alguns insultos racistas e piadas maldosas. Dois terços dos evacuados ao longo desses dias tinham nascido no país, eram cidadãos norte-americanos. Os japoneses esperaram horas em longas filas em frente às mesas dos agentes, que os inscreviam e lhes entregavam etiquetas para pendurar ao pescoço com o número de identificação, e também na bagagem. Um grupo de quakers, opositores a esta medida por a considerarem racista e anticristã, oferecia-lhes água, sanduíches e fruta.
Takao Fukuda ia entrar com a sua família para o autocarro quando chegou Isaac Belasco com Alma pela mão. Recorrera ao peso da sua autoridade para intimidar os agentes e os soldados que o tentaram deter. Estava profundamente alterado, porque não conseguia deixar de comparar o que estava a acontecer a poucos metros de sua casa com o que possivelmente sucedera aos seus cunhados em Varsóvia. Abriu passagem aos empurrões para abraçar fortemente o amigo e entregar-lhe um envelope com dinheiro, que Takao tentou inutilmente recusar, enquanto Alma se despedia de Ichimei. «Escreve-me, escreve-me», foi a última coisa que as crianças disseram antes que a triste lagarta de autocarros iniciasse a marcha.
Ao fim do trajeto que lhes pareceu muito longo, embora apenas tivesse durado uma hora, os Fukuda chegaram ao hipódromo de Tanforan, na cidade de San Bruno. As autoridades tinham cercado o recinto com arame farpado, preparado a toda a pressa os estábulos e construído barracas para albergar oito mil pessoas. A ordem de evacuação fora tão precipitada que não tinha havido tempo para terminar as instalações nem abastecer os acampamentos com o necessário. Desligaram-se os motores dos veículos e os prisoneiros começaram a sair, carregando os filhos e as bagagens, ajudando os mais idosos. Avançavam mudos, em grupos apertados, hesitantes, sem compreender os berros dos disparatados altifalantes. A chuva convertera o solo num lodaçal e encharcava as gentes e a bagagem.
Guardas armados separaram os homens das mulheres para o controlo médico. Mais tarde foram vacinados contra o tifo e o sarampo. Nas horas que se seguiram, os Fukuda tentaram recuperar os seus pertences entre montanhas de volumes numa confusão absoluta e instalaram-se num estábulo vazio que lhes atribuíram. Havia teias de aranha penduradas do teto, havia baratas, ratos e um palmo de pó e palha no chão; o cheiro dos animais permanecia no ar, misturado com o da creolina utilizada para tentar desinfetar. Tinham um catre, um saco e duas mantas do exército por pessoa. Takao, aturdido pela fadiga e humilhado até ao último resquício da alma, sentou-se no chão com os cotovelos nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Heideko tirou o chapéu e os sapatos, calçou os chinelos, arregaçou as mangas e dispôs-se a tirar o melhor partido possível da desgraça. Não deu tempo aos filhos de se lamentarem; primeiro pô-los a montar as camas de campanha e a varrer, a seguir mandou Charles e James recolherem pedaços de madeira e paus, que vira ao chegar — os restos da improvisada construção —, para construir umas prateleiras para colocar os utensílios de cozinha que tinha trazido.
Encarregou Megumi e Ichimei de encherem os sacos com palha para fazerem de colchões, de acordo com as instruções dadas, e ela foi percorrer as instalações e cumprimentar as mulheres e avaliar os guardas e os agentes do campo, que estavam tão desorientados como os detidos a seu cargo, perguntando-se quanto tempo teriam de permanecer ali. Os únicos inimigos que Heideko detetou na sua primeira inspeção ao campo foram os tradutores coreanos, que qualificou como odiosos com os evacuados e bajuladores com os oficiais americanos. Verificou que as latrinas e duches eram insuficientes e não tinham portas; existiam quatro banheiras para as mulheres e a água quente não chegava para todos. O direito à privacidade fora abolido. Mas calculou que não passariam fome, porque viu os camiões de provisões e teve conhecimento de que as cantinas serviriam três refeições diárias a partir dessa mesma tarde.
O jantar consistiu em batatas, salsichas e pão, mas as salsichas acabaram antes de chegar a vez dos Fukuda. «Voltem mais tarde», murmurou-lhes um dos japoneses que servia. Heideko e Megumi esperaram que a cantina ficasse sem gente e conseguiram uma lata de carne picada e mais batatas, que levaram para a habitação da família. Nessa noite Heideko fez uma lista mental dos passos necessários para que a estadia no hipódromo fosse suportável. Em primeiro lugar na lista figurava a dieta e em último, entre parênteses, porque duvidava seriamente que o conseguisse, mudar os intérpretes. Não pregou olho durante toda a noite e com o primeiro raio do amanhecer que entrou pelas frestas do estábulo abanou o marido, que também não dormira e continuava imóvel. «Há aqui muito para fazer, Takao. Precisamos de representantes para negociar com as autoridades. Veste o casaco e vai reunir os homens.»
Os problemas em Tanforan começaram de imediato, mas antes de a semana ter terminado os evacuados já se tinham organizado, tinham elegido por votação democrática os seus representantes, entre os quais se encontrava Heideko Fukuda, que era a única mulher, tinham registado os adultos segundo a profissão e habilidades — professores, agricultores, carpinteiros, ferreiros, contabilistas, médicos... —, inaugurado uma escola sem lápis nem cadernos e programado desportos e outras atividades para manter ocupados os jovens, que desesperavam de ócio e de frustração. Vivia-se em filas de manhã à noite, fila para tudo: o banho, o hospital, a lavandaria, os serviços religiosos, o correio e os três turnos da cantina; era sempre necessário recorrer a muita paciência para se evitarem desacatos e brigas. Existia toque de recolher, fazia-se a verificação da presença das pessoas duas vezes ao dia e era proibido o uso da língua japonesa, algo impossível para os Isei. Para impedir que os guardas interviessem, os próprios detidos responsabilizavam-se por manter a ordem e controlar os revoltosos, mas ninguém conseguia evitar os rumores que circulavam como redemoinhos e às vezes provocavam o pânico. Tentava-se manter a cortesia, para que a proximidade, a promiscuidade e a humilhação fossem mais toleráveis.
Seis meses mais tarde, a 11 de setembro, começaram a transportar os detidos em comboios. Ninguém sabia para onde iam. Depois de um dia e duas noites a viajar em comboios desengonçados, sufocantes, com casas de banho insuficientes, sem luz durante a noite, a atravessar paisagens desoladas que não reconheciam e que vários passageiros confundiam com o México, pararam na estação de Delta, no Utah. A partir dali, seguiram em camiões e autocarros até Topaz, a Joia do Deserto, como tinham batizado o campo de concentração, possivelmente sem nenhuma intenção irônica.
Os evacuados estavam meio-mortos de fadiga, sujos e hesitantes, mas não tinham passado nem fome nem sede, porque lhes distribuíram sanduíches e em cada vagão havia cestos de laranjas.
Topaz, a quase mil e quatrocentos metros de altura, era uma horrenda cidade de construções idênticas e planas, como uma improvisada base militar, cercada de arame farpado, com altas torres de controlo e soldados armados, num local árido e descampado, varrido pelo vento e atravessado por redemoinhos de pó. Os outros campos de concentração para japoneses, no oeste do país, eram semelhantes e sempre situados em zonas desérticas, para desencorajar qualquer tentativa de fuga. Não se vislumbrava uma árvore, nem uma moita, nada verde em lado nenhum. Apenas fileiras de barracões escuros que se estendiam no horizonte a perder de vista. As famílias mantinham-se unidas, sem soltarem as mãos, para não se perderem na confusão. Todos precisavam de usar as latrinas e ninguém sabia onde estavam. Os guardas necessitaram de várias horas para conseguirem organizar toda a gente, porque eles tão-pouco compreendiam as instruções, mas por fim lá distribuíram os alojamentos.
Os Fukuda, desafiando a poeirada que nublava o ar e tornava difícil a respiração, encontraram o seu lugar. Cada barraca estava dividida em seis unidades de quatro por sete metros, uma por família, separadas por finos tabiques de papel betuminoso; havia doze barracas por bloco, quarenta e dois blocos no total, cada um deles possuía cantina, lavandaria, duches e casa de banho. O campo ocupava uma área enorme, mas os oito mil evacuados viviam em pouco mais de dois quilômetros quadrados. Rapidamente, os prisioneiros descobriram que a temperatura oscilava entre um calor tórrido no verão e vários graus abaixo de zero no inverno. No verão, além do calor terrível, suportavam o ataque permanente dos mosquitos e as tempestades de pó, que escureciam o céu e queimavam os pulmões.
O vento soprava da mesma forma em qualquer época do ano, arrastando a fetidez das águas fecais que formavam um pântano a um quilômetro de distância do acampamento.
Tal como fizeram no hipódromo de Tanforan, os japoneses organizaram-se rapidamente em Topaz. Em poucas semanas havia escolas, jardins de infância, centros desportivos e um jornal. Com pedaços de madeira, pedras e restos da construção criavam arte: faziam bijuteria com conchas fossilizadas e caroços de pêssego, enchiam bonecas com trapos, faziam brinquedos com paus. Construíram uma biblioteca com livros doados, criaram companhias de teatro e bandas de música. Ichimei convenceu o pai de que podiam plantar vegetais em caixotes, apesar do clima impiedoso e da terra alcalina. Isso animou Takao, e em breve outros o imitaram. Vários Isei decidiram construir um jardim decorativo e cavaram um buraco, encheram-no de água e obtiveram um tanque, para deleite das crianças. Ichimei, com os seus dedos mágicos, construiu um veleiro de madeira que pôs a flutuar no tanque e, ao fim de quatro dias, havia dezenas de barquinhos a fazer corridas. As cozinhas de cada setor estavam a cargo dos detidos, que faziam maravilhas com mantimentos secos e em conserva, trazidos das povoações mais próximas, e mais tarde com os vegetais que conseguiram colher no ano seguinte, regando as sementeiras à colherada. Não estavam habituados a ingerir gorduras nem açúcar e muitos adoeceram, como Heideko previra. As filas para as retretes estendiam-se ao longo de quarteirões; era tanta a urgência e a angústia que ninguém esperava pelas sombras da noite para disfarçar a falta de privacidade. Entupiram-se as latrinas com as fezes de milhares de pacientes e o rudimentar hospital, onde eram atendidos por pessoal branco, médicos e enfermeiras japoneses, não dava conta do recado.
Assim que acabaram os restos de madeira para fazer móveis e se atribuiu todas as tarefas possíveis àqueles a quem a impaciência roía por dentro, a maioria dos evacuados afundou-se no tédio. Os dias tornavam-se eternos naquela cidade de pesadelo vigiada de perto por aborrecidas sentinelas nas torres e de longe pelas magníficas montanhas do Utah, os dias todos iguais, sem nada que fazer, filas e mais filas, esperar pelo correio, passar as horas a jogar às cartas, inventar tarefas de formiga, repetir as mesmas conversas, que iam perdendo o significado à medida que se gastavam as palavras. Os costumes ancestrais foram desaparecendo, os pais e os avós viram a sua autoridade diluir-se, os cônjuges estavam presos numa convivência sem intimidade e as famílias começaram a desintegrar-se. Como comiam na barafunda das cantinas comunitárias, nem sequer se podiam reunir à volta da mesa. Por muito que Takao insistisse para que os Fukuda se sentassem juntos, os filhos preferiam fazê-lo com outros jovens da idade deles e era difícil segurar Megumi, que se transformara numa beldade de maçãs do rosto arredondadas e olhos cintilantes. Os únicos imunes aos estragos do desespero eram as crianças, que andavam em grupos, ocupadas em pequenas travessuras e aventuras imaginárias fingindo que estavam de férias.
O inverno chegou rapidamente. Quando começou a nevar, foi entregue a cada família uma salamandra a carvão, que se transformou no centro da vida social, e foi distribuída roupa militar em desuso. Aqueles uniformes verdes, desbotados e excessivamente grandes eram tão deprimentes como a paisagem gelada e as barracas negras. As mulheres começaram a fazer flores de papel para as suas casas. A noite não havia forma de combater o vento, que arrastava lâminas de gelo, entrava a uivar pelas frinchas das barracas e levantava os telhados. Os Fukuda, à semelhança dos outros, dormiam vestidos com a roupa, enrolados nas duas mantas que lhes tinham sido atribuídas e abraçados nas camas de campanha para sentirem calor e consolo.
Meses depois, no verão, dormiriam quase nus e amanheceriam cobertos de areia cinza, fina como o pó de talco. No entanto, sentiam-se afortunados, porque estavam juntos. Outras famílias tinham sido separadas; primeiro tinham levado os homens para um campo de realojamento, como lhes chamaram, e depois foi a vez das mulheres e das crianças para outro; em alguns casos passaram dois ou três anos até voltarem a reunir-se.
A correspondência entre Alma e Ichimei sofreu obstáculos desde o começo. As cartas atrasavam-se semanas, não por culpa do correio mas pela demora dos funcionários de Topaz, que não eram em número suficiente para ler as centenas de cartas que se amontoavam diariamente nas suas mesas. As de Alma, cujo conteúdo não punha em perigo a segurança dos Estados Unidos, passavam na íntegra, mas as de Ichimei sofriam tais cortes da censura que ela tinha de adivinhar o sentido das frases entre as barras de tinta negra. As descrições das barracas, a comida, as latrinas, o tratamento dos guardas e até o clima, tudo se revelava suspeito. A conselho de outros mais avisados na arte da ilusão, Ichimei salpicava as cartas de elogios aos americanos e de aclamações patrióticas, até que as náuseas o fizeram desistir dessa tática. Então optou por desenhar. Aprender a ler e a escrever custara-lhe mais do que o normal, aos dez anos não dominava completamente as letras, que se misturavam sem consideração pela ortografia, mas tivera sempre olho certeiro e pulso firme para o desenho. As suas ilustrações passavam sem censura nem impedimentos e assim Alma inteirava-se dos pormenores da existência dele em Topaz, como se os visse em fotografias.
3 de dezembro de 1986
“Ontem falamos de Topaz e não te contei o mais importante, Alma: nem tudo foi negativo. Fazíamos festas, desporto e arte. Comíamos peru no dia de Ação de Graças, decorávamos as barracas no Natal. De fora enviavam-nos pacotes com doces, brinquedos e livros. A minha mãe andava sempre ocupada com novos planos, era respeitada por todos, mesmo pelos brancos. Megumi estava apaixonada e eufórica com o trabalho dela no hospital. Eu pintava, plantava no horto, arranjava coisas estragadas. As aulas eram tão curtas e fáceis que até eu tirava boas notas. Brincava quase o dia todo; havia muitas crianças e centenas de cães sem dono, todos parecidos, de patas curtas e pelo rijo. O meu pai e James foram os que mais sofreram.
Após a guerra, as pessoas dos campos espalharam-se pelo país. Os jovens tornaram-se independentes, terminou aquela coisa de viver isolado numa má imitação do Japão. Integramo- nos na América.
Penso em ti. Quando nos encontrarmos, preparar-te-ei um chá e conversaremos.”
Ichi
Irina, Alma e Lenny
As duas mulheres estavam a almoçar na rotunda de Neiman Marcus, na praça da Unión, sob a luz dourada da antiga cúpula de vitrais onde iam sobretudo por causa dos popovers, um pão morno, esponjoso e leve que era servido acabado de sair do forno, e do champanhe rosé, preferido por Alma. Irina pedia limonada e ambas brindavam à vida agradável. Em silêncio, para não ofender Alma, Irina brindava também pelo dinheiro dos Belasco, que lhe permitia o luxo desse momento, com música suave, entre compradoras elegantes, modelos esguias a desfilar com roupa de grandes costureiros para tentar a clientela e empregados atenciosos de gravata vermelha. Era um mundo refinado, completamente oposto à sua aldeia da Moldávia, à escassez da sua infância e ao terror da sua adolescência. Comiam tranquilamente, saboreando os pratos de influência asiática e repetindo os popovers. Com a segunda taça de champanhe as evocações de Alma discorriam; nessa ocasião voltou a referir-se a Nathaniel, o marido, que estava presente em muitas das suas histórias; tinha arranjado forma de o manter vivo na memória durante três décadas. Seth recordava vagamente aquele avô como um esqueleto exangue de olhos ardentes, entre almofadões de penas. Tinha apenas quatro anos quando finalmente se apagou o olhar dolorido do avô, mas nunca se esqueceu do cheiro a medicamentos e vapores de eucalipto do quarto dele.
Alma contou a Irina que Nathaniel fora tão bondoso como o pai, Isaac Belasco, e que quando morreu, ela encontrou entre os papéis dele centenas de promissórias vencidas de empréstimos que nunca tinha cobrado e instruções precisas para perdoar aos seus muitos devedores. Ela não estava preparada para se encarregar dos assuntos que ele descurara durante a devastadora doença.
— Durante toda a minha vida nunca me preocupei com as questões de dinheiro. É curioso, não é?
— Teve sorte. Quase toda a gente que conheço tem preocupações de dinheiro. Os residentes na Lark House vivem com o dinheiro contado, alguns nem podem comprar medicamentos.
— Não têm seguro de saúde? — perguntou Alma, surpreendida.
— O seguro cobre uma parte, não tudo. Se a família não os ajuda, o senhor Voigt tem de recorrer a um fundo especial da Lark House.
— Vou falar com ele. Porque é que não me disseste nada, Irina?
— A Alma não pode resolver todos os problemas.
— Não, mas a Fundação Belasco pode responsabilizar-se pelo parque da Lark House. Voigt pouparia uma data de dinheiro que poderia utilizar para ajudar os residentes mais necessitados.
— O senhor Voigt vai desmaiar nos seus braços quando lhe fizer essa proposta.
— Credo! Espero que não.
— Conte-me o resto. O que fez quando o seu marido morreu?
— Estava prestes a afogar-me no meio dos papéis quando prestei atenção a Larry. O meu filho vivera ajuizadamente na sombra e convertera-se num senhor circunspecto e responsável sem que ninguém notasse.
Larry Belasco casara-se jovem, com pressa e sem festejos, por causa da doença do pai e porque a namorada, Doris, estava visivelmente grávida. Alma admitia que nessa época estava demasiado absorta com os cuidados do marido e, por isso, quase nem tivera tempo de conhecer melhor a nora, embora vivessem debaixo do mesmo teto. Mas gostava muito dela, porque além das suas virtudes, adorava Larry e era a mãe de Seth, aquele ranhoso travesso que saltava como um canguru e espantava a tristeza da casa, e de Pauline, uma menina tranquila, que se entretinha sozinha e parecia não precisar de nada.
— E tal como nunca tive de preocupar-me com o dinheiro, nunca tive o aborrecimento de cuidar das tarefas domésticas. A minha sogra tomou conta da casa de Sea Cliff até ao seu último suspiro, apesar da cegueira, e depois disso tivemos um mordomo. Parecia uma caricatura dessas personagens dos filmes ingleses. O tipo era tão empertigado que na família achávamos sempre que estava a gozar connosco.
Contou-lhe que o mordomo esteve onze anos em Sea Cliff e foi embora quando Doris se atreveu a dar-lhe conselhos sobre o trabalho dele. «Ou ela ou eu», impôs o homem a Nathaniel, que já não se levantava da cama e quase não tinha força para lidar com tais problemas, mas era quem contratava os empregados. Diante de semelhante ultimato, Nathaniel escolheu a vistosa nora, que apesar da juventude e da barriga de sete meses demonstrou ser uma dona de casa competente. No tempo de Lillian a mansão geria-se com boa vontade e improvisação e com o mordomo as únicas mudanças notórias foram o atraso para servir cada prato à mesa e a má cara do cozinheiro, que não o suportava. Sob a implacável batuta de Doris, transformou-se num exemplo de preciosismo em que ninguém se sentia particularmente confortável. Irina vira o resultado da sua eficiência: a cozinha era um laboratório impoluto, nas salas as crianças não entravam, os armários cheiravam a lavanda, os lençóis eram engomados, a comida do dia a dia consistia em pratos elaborados em porções minúsculas e os ramos de flores eram renovados uma vez por semana por uma florista profissional, porém em vez de darem um ar festivo à casa impunham uma solenidade de pompas fúnebres.
A única coisa que a varinha mágica da domesticidade respeitara fora o quarto vazio de Alma, por quem Doris sentia um temor respeitoso.
— Quando Nathaniel ficou doente, Larry ficou à frente do escritório de advogados dos Belasco — continuou Alma. — Desde o princípio cumpriu muito bem o seu papel. E quando Nathaniel morreu eu pude delegar-lhe as finanças da família e empenhar-me em ressuscitar a Fundação Belasco, que estava moribunda. Os parques públicos foram secando, cheios de lixo, agulhas e preservativos abandonados. Os mendigos tinham-se instalado lá, com os seus carrinhos a transbordar de pacotes imundos e os seus tapumes de cartão. Não sei nada de plantas, mas dediquei-me aos jardins por causa do meu sogro e do meu marido. Para eles isto era uma missão sagrada.
— Parece que todos os homens da sua família tiveram bom coração, Alma. Há pouca gente assim neste mundo.
— Há muita gente boa, Irina, mas é discreta. Os maus, pelo contrário, fazem muito barulho, por isso dão mais nas vistas. Tu não conheces bem Larry, mas se algum dia precisares de algo e eu não estiver por perto, não hesites em recorrer a ele. O meu filho é muito boa pessoa e não vai deixar de te ajudar.
— É uma pessoa muito séria, creio que não me atreveria a incomodá-lo.
— Foi sempre sério. Aos vinte anos parecia que tinha cinquenta, mas ficou congelado nessa idade e envelheceu sempre igual. Repara que em todas as fotografias tem a mesma expressão de preocupação e os ombros caídos.
Hans Voigt estabelecera um sistema simples para que os residentes da Lark House avaliassem o trabalho do pessoal e ficava intrigado por Irina ter sempre nota excelente. Supôs que o segredo dela era ouvir a mesma história mil vezes como se a ouvisse pela primeira vez, aquelas histórias que os anciãos repetiam para arrumar o passado e criarem uma imagem aceitável de si próprios, apagando remorsos e exacerbando as virtudes reais ou inventadas. Ninguém deseja terminar a vida com um passado banal. Mas a fórmula de Irina era mais complexa; para ela cada um dos anciãos da Lark House era uma réplica dos seus avós, Costea e Petruta, que evocava de noite antes de dormir, pedindo-lhes que a acompanhassem na escuridão, tal como tinham feito na sua infância. Fora criada com eles, cultivando um pedaço de terra desgraçada num vilarejo remoto da Moldávia, onde não chegavam as luzes do progresso. A maior parte da população ainda vivia do campo e continuava a lavrar a terra como faziam os seus antepassados um século atrás. Irina tinha dois anos quando caiu o muro de Berlim, em 1989, e quatro quando a União Soviética se desmoronou completamente e o seu país se converteu numa república independente, dois acontecimentos que não tinham nenhum significado para ela, mas que os avós lamentavam em coro com os vizinhos. Estavam todos de acordo que sob o regime comunista a pobreza era a mesma, mas havia comida e segurança, enquanto a independência só lhes trouxera a ruína e o abandono. Os que puderam ir para longe fizeram-no, como Radmila, a mãe de Irina, e para trás ficaram apenas os velhos e as crianças que os pais não puderam levar com eles. Irina recordava os avós encurvados pelo esforço de cultivar batatas, enrugados pelo sol de agosto e pelas geadas de janeiro, esmifrados até ao tutano, com poucas forças e nenhuma esperança.
Concluiu que o campo era péssimo para a saúde. A razão para os avós continuarem a lutar era ela, a sua única alegria, fora o vinho tinto feito em casa, uma beberagem áspera como solvente de tintas que lhes permitia ultrapassar durante um bocado a solidão e o tédio.
Ao amanhecer, antes de ir a pé para a escola, Irina carregava os baldes de água do poço e à tarde, antes da sopa e do pão do jantar, cortava lenha para a salamandra. Pesava cinquenta quilos vestida com roupa de inverno e de botas, mas tinha a força de um soldado e conseguia levantar Cathy, a preferida entre as suas clientes, como se fosse um recém-nascido para a mudar da cadeira de rodas para um sofá ou para a cama. Os músculos dela deviam-se aos baldes de água e a sorte de estar viva a santa Parescheva, patrona da Moldávia, intermediária entre a terra e os seres benévolos do céu. Nas noites da sua infância rezava com os avós de joelhos diante da imagem da santa; rezavam pela colheita de batatas e pela saúde das galinhas, rezavam pedindo proteção contra os meliantes e os militares, rezavam pela sua frágil república e por Radmila. Para a menina a santa de manto azul, com auréola de ouro e uma cruz na mão, era mais humana que a silhueta da mãe numa foto descolorada. Irina não sentia a falta dela, mas entretinha-se a imaginar que um dia Radmila regressaria com um saco cheio de brinquedos. Não soube nada dela até aos oito anos, quando os avós receberam algum dinheiro enviado pela filha distante e o gastaram com prudência, para não provocar inveja. Irina sentiu-se defraudada, porque a mãe não lhe enviara nada de especial, nem sequer uma nota; o envelope apenas continha dinheiro e duas fotografias de uma mulher desconhecida de cabelo oxigenado e de expressão dura, muito diferente da jovem da foto que os avós mantinham junto à imagem da santa Parescheva. A partir daí continuaram a chegar remessas de dinheiro duas ou três vezes por ano, que aliviavam a miséria dos avós.
O drama de Radmila não era muito diferente do de outras jovens da Moldávia. Ficara grávida aos dezasseis anos de um soldado russo que estava de passagem com o seu regimento e de quem não voltara a saber nada, teve Irina, porque as tentativas de abortar tinham falhado, e logo que pôde fugiu para longe. Anos mais tarde, para a prevenir contra os perigos do mundo, Radmila contaria à filha os pormenores da sua odisseia, com um copo de vodca na mão e outros dois já no papo. Um dia chegou à aldeia uma mulher vinda da cidade para recrutar raparigas do campo para trabalharem como empregadas de mesa noutro país. Ofereceu a Radmila a deslumbrante oportunidade que surge uma vez na vida: passaporte e bilhete de viagem, trabalho fácil e um bom salário. Garantiu-lhe que com as gorjetas poderia poupar o suficiente para comprar uma casa para ela em menos de três anos. Ignorando as advertências desesperadas dos pais, Radmila meteu-se no comboio com a alcoviteira sem suspeitar que acabaria nas garras de rufiões turcos num bordel de Aksaray, em Istambul. Tiveram-na prisoneira, durante dois anos, a servir entre trinta e quarenta homens por dia para pagar a dívida da viagem, que nunca diminuía, porque lhe cobravam o alojamento, a comida, o banho e os preservativos. As raparigas que resistiam eram marcadas com socos e facas, queimadas ou amanheciam mortas num beco. Escapar sem dinheiro nem documentos era impossível, viviam encarceradas, sem conhecer a língua, o bairro e muito menos a cidade; se conseguiam enganar os chulos tinham de enfrentar os polícias, que eram também os clientes mais assíduos, a quem deviam satisfazer gratuitamente. «Uma rapariga saltou de uma janela no terceiro andar e ficou com metade do corpo paralisado, mas não se livrou de continuar a trabalhar», contou Radmila a Irina naquele tom melodramático e didático com que se referia àquela etapa miserável da sua vida. «Como não conseguia controlar os esfíncteres e se sujava toda, os homens usavam-na por metade do preço.
Outra ficou grávida e servia deitada num colchão com um buraco no centro para encaixar a barriga; no caso dela os clientes pagavam mais, porque foder uma mulher grávida cura a gonorreia, pensavam eles. Quando os chulos queriam caras novas, vendiam-nas a outros bordéis, e assim íamos baixando de nível até chegar ao fundo do inferno. Eu fui salva pelo fogo e por um homem que teve pena de mim. Uma noite houve um incêndio, que alastrou a várias casas do bairro. Apareceram os jornalistas com as câmaras, e por isso a polícia não pôde fazer vista grossa; prenderam as raparigas que estavam a tremer na rua, mas não prenderam nenhum dos malditos proxenetas nem os clientes. Aparecemos na televisão, apelidaram-nos de viciosas; éramos as culpadas das imundícies que aconteciam em Aksaray. Iam deportar-nos, mas um polícia que eu conhecia ajudou-me a fugir e arranjou-me um passaporte.» Aos trambolhões, Radmila chegou a Itália, onde trabalhou a limpar escritórios e depois como operária de uma fábrica. Estava doente dos rins, desgastada pela má vida, pelas drogas e pelo álcool, mas era ainda jovem e preservava ainda algo da pele translúcida da sua juventude, a mesma que caracterizaria a filha. Um técnico americano encantou-se por ela, casaram-se e ele levou-a para o Texas, onde a devido tempo também iria parar a filha. A última vez que Irina viu os avós, naquela manhã de 1999 quando a deixaram no comboio que a levaria a Chisinau, a primeira etapa da longa viagem até ao Texas, Costea tinha sessenta e dois anos e Petruta um ano menos que ele. Estavam muito mais acabados do que qualquer um dos hóspedes de noventa e muitos anos da Lark House, que envelheciam a pouco e pouco, com dignidade e dentaduras completas, próprias ou postiças, mas Irina verificara que o processo era o mesmo; avança-se passo a passo até ao final, uns mais depressa do que outros, e pelo caminho vai-se perdendo tudo. Não se pode levar nada para o outro lado da morte.
Meses mais tarde, Petruta inclinou a cabeça sobre o prato de batatas com cebola que acabava de servir e já não voltou a despertar. Costea vivera com ela durante quarenta anos e concluiu que não valia a pena continuar sozinho. Pendurou-se da viga do celeiro, onde os vizinhos o encontraram três dias mais tarde, atraídos pelos latidos do cão e os balidos da cabra, que não fora ordenhada. Irina soube disso uns anos mais tarde da boca de um juiz no Tribunal de Menores de Dallas. Mas disso ela não falava.
No início do outono, Lenny Beal ocupou um dos apartamentos independentes da Lark House. O novo hóspede chegou acompanhado por Sofia, uma cadela branca com uma mancha negra num olho que lhe dava um ar de pirata. A sua chegada foi um acontecimento memorável, porque nenhum dos escassos varões se podia comparar a ele. Uns viviam em casal, outros usavam fraldas no terceiro nível, prestes a passar para o Paraíso, e os raros viúvos disponíveis não estavam muito interessados em nenhuma das mulheres. Lenny Beal tinha oitenta anos, porém ninguém lhe dava mais de setenta; era o exemplar mais desejável que se via por ali há décadas, com a sua melena cinzenta, suficiente para fazer um pequeno puxo na nuca, os seus inverossímeis olhos lápis-lazúli e o seu estilo juvenil de calças de linho enrugadas e sapatilhas de lona sem meias. Esteve prestes a desencadear um motim entre as senhoras: enchia o espaço, como se tivessem soltado um tigre naquela atmosfera feminina de saudade. Até o próprio Hans Voigt, com a sua vasta experiência de administrador, se perguntava que estava Lenny Beal a fazer ali. Os homens maduros e bem conservados como ele tinham sempre uma mulher mais jovem — segunda ou terceira esposa — que cuidava deles. Recebeu-o com todo o entusiasmo que conseguiu encontrar entre as pontadas das suas hemorroidas, que continuavam a torturá-lo.
Catherine Hope tentava ajudá-lo com acupuntura na sua clínica da dor, onde dava consulta um médico chinês três vezes por semana, mas as melhoras eram lentas. O diretor calculou que até as senhoras mais acabrunhadas, aquelas que passavam o dia sentadas com o olhar perdido no vazio a recordar o passado, porque o presente lhes escapava ou passava tão depressa que não o compreendiam, iam despertar para a vida por causa de Lenny Beal. Não estava enganado. De um dia para o outro apareceram perucas celestiais, pérolas e unhas pintadas, uma novidade nas senhoras com tendência para o budismo e a ecologia, que desprezavam o artifício. «Ena! Parecemos uma residência geriátrica de Miami», comentou Cathy. Faziam-se apostas para adivinhar a que se dedicava anteriormente o recém-chegado: ator, estilista, importador de arte oriental, tenista profissional. Alma pôs termo às especulações ao informar Irina, para que divulgasse, que Lenny Beal fora dentista, mas ninguém queria acreditar que tivesse ganhado a vida a escarafunchar dentes.
Lenny Beal e Alma Belasco tinham-se conhecido trinta anos antes. Assim que se viram, abraçaram-se demoradamente no meio da recepção e quando finalmente se separaram, ambos tinham os olhos úmidos. Irina nunca vira tal demonstração de emoção em Alma e, se as suas suspeitas sobre a existência de um amante japonês não fossem tão firmes, acreditaria que Lenny era o homem dos encontros clandestinos. Telefonou de seguida a Seth para lhe dar a notícia.
— Estás a dizer que é amigo da minha avó? Nunca a ouvi falar dele. Vou averiguar quem é.
— Como?
— É para isso que tenho investigadores.
Os investigadores de Seth Belasco eram dois foragidos reabilitados, um branco e outro negro, ambos de mau feitio, que tratavam de recolher informação sobre os casos antes de estes serem apresentados em tribunal.
Seth explicou-o a Irina dando o exemplo mais recente. Era o caso de um marinheiro que tinha posto em tribunal a Companhia de Navegação por causa de um acidente de trabalho que o deixara paralisado, como garantia, mas Seth não acreditava nele. Os seus rufias convidaram o inválido para um clube de reputação duvidosa, embebedaram-no e gravaram um vídeo em que este dançava salsa com uma mulher que fazia serviço de acompanhante. Com essa prova, Seth calou o advogado da outra parte, chegaram a um acordo e evitaram o aborrecimento de um julgamento. Seth confessou a Irina que aquela tarefa fora honrada no âmbito da escala moral dos seus investigadores; outras podiam ser consideradas bastante mais dúbias.
Dois dias mais tarde, Seth ligou-lhe para marcarem encontro numa pizaria que frequentavam habitualmente, mas Irina dera banho a cinco cães no fim de semana e sentia-se magnânima. Sugeriu-lhe que dessa vez fossem a um restaurante decente; Alma metera-lhe na cabeça os pruridos da toalha branca. «Eu pago», disse. Seth foi buscá-la de moto e levou-a aos ziguezagues pelo meio do trânsito excedendo os limites de velocidade até ao bairro italiano, onde chegaram com o cabelo despenteado pelo capacete e com o nariz a pingar. Irina percebeu que não estava vestida de acordo com o local — nunca estava —, e o olhar altivo do maître foi a confirmação. Ao ver a lista de preços do menu, quase desmaiou.
— Não te assustes, vai ser pago pelo escritório — tranquilizou-a Seth.
— Isto vai custar mais do que uma cadeira de rodas!
— Para que queres uma cadeira de rodas?
— É uma forma de comparação, Seth. Há duas velhinhas na Lark House que não têm dinheiro para comprarem a cadeira de que precisam.
— Isso é muito triste, Irina. Recomendo-te as ostras com trufas. E um bom vinho branco, claro.
— Eu quero Coca-Cola.
— Com as ostras tem de ser Chablis. Aqui não têm Coca--Cola.
— Então quero uma água mineral com uma rodela de limão.
— És uma alcoólica reabilitada, Irina? Podes abrir-te comigo, não tens porque ter vergonha, é uma doença, como a diabetes.
— Não sou alcoólica, mas o vinho provoca-me dores de cabeça — respondeu Irina, que não pretendia partilhar com ele os seus piores pesadelos.
Antes do primeiro prato serviram-lhes uma colherada de espuma negra, parecida com o vômito de dragão, uma gentileza do chef que ela meteu na boca com desconfiança, enquanto Seth lhe explicava que Lenny Beal era solteiro, sem filhos, e que se especializara em ortodontia numa clínica dentária em Santa Bárbara. Na vida dele não havia nada de relevante, exceto que era um grande desportista e que fizera várias vezes o Ironman, uma competição intensa de natação, bicicleta e atletismo que, francamente, não lhe parecia agradável. Seth mencionara o nome ao pai, que tinha a impressão de que ele tinha sido amigo de Alma e Nathaniel, mas não tinha a certeza; lembrava-se vagamente de o ter visto em Sea Cliff na altura em que Nathaniel estava doente. Muitos amigos fiéis passaram por Sea Cliff para acompanhar o pai dele naquela época e Lenny Beal podia ter sido um deles, disse Larry. Por agora Seth não tinha mais nenhuma informação sobre ele, mas descobrira algo sobre Ichimei.
— A família Fukuda esteve três anos e meio num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial — disse.
— Onde?
— Em Topaz, no meio do deserto do Utah.
Irina apenas ouvira falar dos campos de concentração dos alemães na Europa, por isso Seth deu-lhe a conhecer aquele assunto e mostrou-lhe uma foto do Museu Nacional Japonês Americano.
A legenda da foto original indicava que eram os Fukuda. Disse-lhe que a sua assistente estava à procura dos nomes e da idade de cada um deles nas listas de evacuados de Topaz.
Os prisioneiros
Durante o primeiro ano em Topaz, Ichimei mandava frequentemente desenhos a Alma, mas com o tempo foram sendo mais espaçados, porque os censores não conseguiam dar conta do recado e tiveram de impor limites à correspondência dos evacuados. Esses esquissos, que Alma guardava zelosamente, foram os melhores testemunhos daquela etapa da vida dos Fukuda: a família apertada no interior da barraca; crianças a fazer as tarefas escolares, de joelhos no chão com bancos a servir de mesa; filas de gente para as latrinas; homens a jogar às cartas; mulheres a lavar roupa em grandes tinas. As câmaras fotográficas dos prisioneiros tinham sido confiscadas e os poucos que conseguiram esconder as deles não podiam revelar os negativos. Só eram autorizadas as fotografias oficiais, otimistas, que mostravam o tratamento humanitário e o ambiente tranquilo e alegre de Topaz: crianças a jogar beisebol, adolescentes a dançar as músicas da moda, todos a cantar o hino nacional enquanto içavam a bandeira pela manhã, e de forma alguma o arame farpado, as torres de vigia ou os soldados com apetrechos de guerra. No entanto, um dos guardas americanos ofereceu-se para tirar uma foto aos Fukuda. Chamava-se Boyd Anderson e apaixonara-se por Megumi, que vira pela primeira vez no hospital, onde ela era voluntária e onde ele foi parar depois de ferir uma mão a abrir uma lata de carne entremeada.
Anderson tinha vinte e três anos, era alto e loiro como os seus antepassados suecos, de carácter ingênuo e afável, um dos poucos brancos que ganhara a confiança dos evacuados. Tinha uma noiva impaciente que esperava por ele em Los Angeles, mas quando viu Megumi com o alvo uniforme, o seu coração deu um salto. Ela limpou-lhe a ferida, o médico deu nove pontos, e ela ligou-a com uma precisão de profissional, sem olhar para o rosto dele, enquanto Boyd Anderson a observava tão deslumbrado que não sentiu a dor do tratamento. A partir desse dia rondava-a com prudência, por não querer abusar do seu estatuto de autoridade, mas sobretudo porque o cruzamento de raças era proibido para os brancos e repugnante para os japoneses. Megumi, com o seu rosto de lua e a sua delicadeza para se mover pelo mundo, podia dar-se ao luxo de escolher entre os rapazes mais desejados de Topaz, mas sentiu a mesma atração ilícita pelo guarda e debateu-se com o mesmo preconceito racista, rogando aos céus que a guerra terminasse, a sua família regressasse a São Francisco e ela conseguisse arrancar aquela tentação pecaminosa da alma. Entretanto, Boyd rezava para que a guerra não terminasse nunca.
A 4 de julho fez-se uma festa em Topaz para celebrar o Dia da Independência, tal como se fizera seis meses antes para festejar o Ano Novo. Da primeira vez a festa fora um fiasco. O acampamento ainda estava na fase de improvisação e as pessoas não se tinham resignado à sua condição de prisioneiros, porém em 1943 os evacuados esmeraram-se em demonstrar o seu patriotismo e os americanos a sua boa disposição, apesar dos redemoinhos de pó e de um calor que nem as lagartixas suportavam. Misturaram-se numa agradável convivência entre assados, bandeiras, bolos e até cerveja para os homens, que por um dia podiam prescindir do asqueroso licor preparado clandestinamente com pêssegos em conserva fermentados.
Boyd Anderson, entre outros, foi destacado para fotografar as festividades, para calar os jornalistas de má-fé que denunciavam como inumano o tratamento dado à população de origem japonesa. O guarda aproveitou para pedir aos Fukuda para posarem para uma foto. Depois deu uma cópia a Takao e outra, disfarçadamente, a Megumi, enquanto ele mandou ampliar a sua e recortou Megumi do grupo familiar. Essa foto ia acompanhá-lo para sempre; tinha-a sempre consigo na sua carteira protegida por plástico e seria enterrado com ela cinquenta anos mais tarde. No grupo, os Fukuda apareciam diante de um edifício negro e achatado: Takao, com os ombros descaídos e o semblante austero, Heideko, diminuta e desafiante, James meio de lado e com má vontade, Megumi com os seus esplendorosos dezoito anos, e Ichimei, de onze, magro, com o cabelo desgrenhado e crostas nos joelhos.
Naquela fotografia da família em Topaz, a única que existia, faltava Charles. Nesse ano, Charles, o filho mais velho de Takao e Heideko, alistara-se no exército, porque considerava que era o seu dever e não para fugir da clausura, como eram acusados os voluntários por alguns jovens que não aceitavam o recrutamento. Entrou para o quadringentésimo quadragésimo segundo Regimento de Infantaria, composto exclusivamente por Nisei. Ichimei enviou a Alma um desenho do irmão, enquadrado no meio da bandeira, com duas linhas, que não foram censuradas, em que explicava que não tinham cabido na página os outros dezasseis rapazes de farda que iriam para a guerra. Tinha tanto jeito para o desenho que com poucos traços conseguiu transmitir a expressão de imenso orgulho de Charles, um orgulho que remontava a um passado longínquo, às gerações anteriores de samurais da sua família, que iam para o campo de batalha convictos de que não regressariam, dispostos a nunca se render e a morrer com honra; isso dava-lhes uma coragem sobre-humana. Ao observar o desenho de Ichimei, como sempre fazia, Isaac Belasco fez Alma perceber a ironia do facto de esses jovens se prestarem a arriscar as vidas deles para defenderem os interesses do país que mantinha as suas famílias internadas em campos de concentração.
No dia em que James Fukuda fez dezasseis anos, dois soldados armados vieram buscá-lo e, sem darem explicações à família, levaram-no no meio deles, mas Takao e Heideko pressentiam essa desgraça, porque o seu segundo filho fora difícil desde que nascera e um problema permanente desde que os internaram. Os Fukuda, como os restantes evacuados do país, tinham aceitado a sua situação com resignação filosófica, mas James e outros Nisei, americano-japoneses, protestavam sempre, primeiro violando as regras quando podiam, mais tarde incitando à revolta. No início, Takao e Heideko atribuíam aquela atitude ao carácter explosivo do rapaz, tão diferente do irmão Charles, depois aos desvarios da adolescência e finalmente às más companhias. O diretor do campo advertira-os mais de uma vez que não ia tolerar a conduta de James; castigava-o numa cela por causa de brigas, insolência e danos menores à propriedade federal, embora nenhuma infração fosse suficientemente grave para mandá-lo prender. À exceção dos excessos de alguns Nisei adolescentes, como James, em Topaz reinava uma ordem exemplar, nunca existiram delitos sérios; os mais graves foram as greves e os protestos quando uma sentinela matou um ancião que se aproximara demasiado das vedações e não ouvira a ordem para parar. O diretor tinha em conta a juventude de James e deixava- se amansar com as discretas manobras de Boyd Anderson em sua defesa.
O governo emitira um questionário em que a única resposta válida era sim. Todos os evacuados a partir dos dezasseis anos tinham de o preencher. Entre as perguntas capciosas era-lhes exigido lealdade aos Estados Unidos, lutar pelo exército onde lhes mandassem, no caso dos homens, e trabalhar no corpo auxiliar, no caso das mulheres, e negar obediência ao imperador do Japão.
Para os Isei, como Takao, isto significava renunciar à sua nacionalidade sem ter direito a obter a nacionalidade americana, no entanto quase todos o fizeram. Os que se recusaram a assinar, porque eram americanos e sentiram-se insultados, foram alguns jovens Nisei. Os alcunhados No-No foram classificados como perigosos pelo governo e condenados pela comunidade japonesa, que desde tempos imemoráveis desdenhava o escândalo. James era um desses No-No. O pai, profundamente envergonhado quando o prenderam, fechou-se no quarto da barraca atribuída à sua família e apenas dali saía para utilizar a latrina comum. Ichimei levava-lhe a comida e depois ia segunda vez para a fila para ele próprio comer. Heideko e Megumi, que também sofriam com a vergonha causada por James, tentaram manter a sua rotina habitual, aguentando com a cabeça erguida os comentários malévolos, os olhares de reprovação dos seus conterrâneos e a hostilidade das autoridades do campo. Os Fukuda, inclusive Ichimei, foram interrogados várias vezes, sem serem acusados de facto graças a Boyd Anderson, que tinha subido de posto e os protegeu como pôde.
— O que é que vai acontecer ao meu irmão? — perguntou-lhe Megumi.
— Não sei, Megumi. Podem tê-lo enviado para Tule Lake, na Califórnia, ou para Fort Leavenworth, no Kansas, isso é da responsabilidade do Departamento Federal de Prisões. Calculo que só será libertado no fim da guerra — respondeu Boyd.
— Ouve-se dizer por aí que os No-No vão ser fuzilados como espiões...
— Não acredites em tudo aquilo que ouves, Megumi.
Esse acontecimento alterou de forma irreversível o ânimo de Takao. Durante os primeiros meses em Topaz, participara na vida comunitária e ocupara horas infindáveis a cultivar hortas de vegetais e a fabricar móveis construídos com a madeira das embalagens, que conseguia na cozinha. Quando já não cabia mais nenhum móvel no reduzido espaço da barraca, Heideko incentivou-o a fazê-los para outras famílias. Tentou pedir autorização para ensinar judo às crianças, mas não lha deram; o chefe militar do acampamento teve medo que incutisse ideias subversivas nos alunos e pusesse em perigo a segurança dos soldados. Em segredo, Takao continuou a treinar com os filhos. Vivia com a esperança de serem libertados, contava os dias, as semanas e os meses, marcando-os no calendário. Pensava incessantemente na ilusão interrompida do viveiro de flores e plantas com Isaac Belasco, no dinheiro que poupara e perdera, na casa que pagara durante anos, reclamada pelo proprietário. Décadas de esforço, de trabalho e de cumprimento do dever para acabar preso atrás de uma cerca de arame farpado, como um criminoso, dizia, amargurado. Não era um ser sociável. A multidão, as inevitáveis filas, o ruído, a falta de privacidade, tudo o irritava.
Heideko, pelo contrário, floresceu em Topaz. Comparada com outras esposas japonesas era uma esposa desobediente, que enfrentava o marido com os braços na cintura, mas vivera dedicada ao lar, aos filhos e ao pesado ofício da agricultura, sem suspeitar que transportava dentro de si o encanto do ativismo. No campo de concentração não tinha tempo nem para o desespero nem para o tédio, estava constantemente a resolver problemas alheios e a pressionar as autoridades para conseguir o que parecia impossível. Os seus filhos estavam presos e seguros atrás da cerca, não precisava de os vigiar, para isso existiam oito mil pares de olhos e um contingente das Forças Armadas. A sua principal preocupação era encorajar Takao para que não desmoronasse completamente; começava a faltar-lhe a imaginação para lhe dar tarefas que o mantivessem ocupado e sem tempo para pensar.
O marido envelhecera, notava-se muito a diferença de dez anos entre eles. A promiscuidade forçada das barracas pusera ponto final à paixão que anteriormente suavizava as dificuldades da convivência, o carinho fora substituído pela exasperação da parte dele e a paciência da parte dela. Por pudor diante dos filhos, que partilhavam o quarto, procuravam não se tocar na estreita cama, e assim a relação fácil que tinham tido foi-se desvanecendo. Takao encerrou-se no rancor, enquanto Heideko descobria a sua vocação para servir e liderar.
Megumi Fukuda recebera três propostas de casamento em menos de dois anos e ninguém compreendia porque as tinha recusado, à exceção de Ichimei, que servia de correio entre a irmã e Boyd Anderson. A rapariga queria duas coisas na sua vida: ser médica e casar-se com Boyd, por essa ordem de prioridades. Em Topaz concluiu o secundário sem o menor esforço e com mérito, fazendo parte do quadro de excelência, mas o ensino superior estava fora do seu alcance. Algumas das universidades do país recebiam um número reduzido de alunos de origem japonesa, selecionados entre os alunos mais brilhantes dos campos de concentração, que podiam também conseguir ajuda financeira do governo, só que com o antecedente de James, uma mancha de infâmia para os Fukuda, ela não podia candidatar-se. Não podia também deixar a família; sem Charles, sentia-se responsável pelo irmão mais novo e pelos pais. Entretanto, praticava no hospital, junto aos médicos e às enfermeiras do acampamento, recrutados entre os prisoneiros. O mentor dela era um médico branco, um tal Frank Delillo, de cinquenta e poucos anos, que cheirava a suor, tabaco e uísque, fracassado na vida privada, mas competente e abnegado na sua profissão, que protegeu Megumi debaixo da sua asa desde o primeiro dia, quando ela apareceu no hospital de saia plissada e blusa engomada a oferecer-se como aprendiz, nas suas próprias palavras.
Ambos tinham acabado de chegar a Topaz. Megumi começou por recolher arrastadeiras e lavar utensílios, mas mostrou tanta vontade e vocação que rapidamente Delillo a nomeou sua assistente.
— Quando a guerra acabar, vou estudar Medicina — anunciou ela.
— Isso pode levar mais tempo do que aquele que tu podes esperar, Megumi. Devo avisar-te que ser médica vai ser muito difícil para ti. És mulher e ainda por cima japonesa.
— Sou americana, como você — replicou ela.
— Bem, seja como for. Não saias de ao pé de mim e vais aprendendo alguma coisa. Megumi levou aquilo à letra. Colada a Frank Delillo acabou por coser feridas, enfaixar ossos, curar queimaduras e assistir a partos; nada mais complicado, porque os casos mais graves eram enviados para os hospitais de Delta ou Salt Lake City. O trabalho dela mantinha-a ocupada dez horas por dia, mas algumas noites procurava estar um bocado com Boyd Anderson, sob o manto protetor de Frank Delillo, a única pessoa além de Ichimei que estava a par do segredo. Apesar dos riscos, os apaixonados passaram dois anos de amor clandestino, auxiliados pela sorte. A aridez do terreno não oferecia lugares para se esconderem, embora os jovens Nisei arranjassem formas engenhosas e desculpas para escapar à vigilância dos pais e aos olhares indiscretos. No entanto, esse não era o caso de Megumi, porque Boyd não podia andar como um coelho entre a escassa vegetação disponível de farda, capacete e espingarda. Os aquartelamentos, escritórios e alojamentos dos brancos, onde poderiam ter criado um ninho, estavam separados do acampamento e ela nunca teria acesso a eles sem a divina intervenção de Frank Delillo, que não só lhe conseguiu uma autorização para passar os controlos, como também se ausentava convenientemente dos seus aposentos.
Ali, entre a desordem e a sujidade em que vivia Delillo, entre cinzeiros cheios de beatas e garrafas vazias, Megumi perdeu a virgindade e Boyd ganhou o céu.
A inclinação de Ichimei pela jardinagem, inculcada pelo pai, intensificou-se em Topaz. Muitos dos evacuados, que tinham ganhado a vida na agricultura, propuseram-se desde o primeiro instante a cultivar hortas, sem que o clima implacável os conseguisse dissuadir. Regavam à mão, contando as gotas de água, e protegiam as plantas com toldos de papel no verão e fogueiras na época mais fria do inverno; conseguiam assim arrancar vegetais e frutas ao deserto. Nunca faltava comida nas cantinas, podia-se encher o prato e repetir, mas sem a firme determinação daqueles camponeses a dieta seria composta de produtos enlatados. Nada de bom para a saúde pode crescer num frasco, diziam. Ichimei ia à escola nas horas de aula e o resto do dia era passado nas hortas. Em pouco tempo a sua alcunha de «dedos verdes» substituiu o nome dele, porque tudo em que tocava germinava e crescia. À noite, depois de fazer fila duas vezes na cantina, uma para o pai outra para si próprio, encadernava meticulosamente contos e textos escolares enviados por longínquos professores para os pequenos Nisei. Era um rapaz serviçal e pensativo, podia passar horas imóvel, a olhar para as montanhas roxas contra o céu de cristal, perdido nos seus pensamentos e emoções. Diziam que tinha vocação de monge e que no Japão teria sido noviço num mosteiro zen. Apesar de a fé Oomoto não permitir o proselitismo, Takao pregou insistentemente a sua religião a Heideko e aos filhos. Mas o único que a abraçou com fervor foi Ichimei, porque se adaptava ao seu carácter e à ideia que, desde muito criança, tinha da vida. Praticava Oomoto com o pai e com um casal Isei de outra barraca. No campo havia serviços budistas e várias confissões cristãs, mas apenas eles pertenciam à Oomoto; Heideko acompanhava-os às vezes sem muita convicção; Charles e James nunca se interessaram pelas crenças do pai, e Megumi, perante o horror de Takao e o assombro de Heideko, converteu-se ao cristianismo. Justificou-o com um sonho revelador em que lhe aparecera Jesus.
— Como sabes que era Jesus? — confrontou-a Takao, lívido de ira.
— Quem mais anda por aí com uma coroa de espinhos? -respondeu-lhe ela.
Teve de assistir a aulas de religião dadas por um pastor presbiteriano e de fazer uma breve cerimônia privada de confirmação, na qual apenas estiveram presentes Ichimei, por curiosidade, e Boyd Anderson, profundamente comovido com aquela prova de amor. Evidentemente, o pastor deduziu que aquela conversão da jovem tinha mais a ver com o guarda do que com o cristianismo, mas não criou entraves. Deu-lhes a sua bênção perguntando-se mentalmente em que canto do universo poderia viver aquele casal.
Arizona
Em dezembro de 1944, poucos dias antes de o Supremo Tribunal aprovar por unanimidade que os cidadãos dos Estados Unidos de qualquer ascendência cultural não podiam ser detidos sem causa, o chefe militar de Topaz, escoltado por dois soldados, entregou a Heideko Fukuda uma bandeira dobrada em triângulo e prendeu uma fita roxa com uma medalha no peito de Takao, enquanto o lamento fúnebre de uma corneta produzia um nó na garganta das centenas de pessoas agrupadas em volta da família para honrar Charles Fukuda, morto em combate. Heideko, Megumi e Ichimei choravam, mas a expressão de Takao era indecifrável. Durante aqueles anos no campo de concentração, o seu rosto tinha-se petrificado numa máscara hierática de orgulho; mas a sua postura encolhida e o seu obstinado silêncio denunciavam o homem vencido em que se tinha transformado. Aos cinquenta e dois anos não restava um pingo da sua capacidade de deleite perante o germinar de uma planta, do seu suave sentido de humor, do seu entusiasmo de perspetivar um futuro para os filhos, da ternura discreta que tinha partilhado com Heideko. O sacrifício heroico de Charles, o filho mais velho que devia cuidar da família quando ele já não pudesse fazê-lo, foi o golpe que o derrubou. Charles pereceu em Itália, como outras centenas de americano-japoneses do quadringentésimo quadragésimo segundo Regimento de Infantaria, apelidado de Coração Púrpura, devido ao extraordinário número de medalhas de honra pela bravura em combate.
O regimento, composto exclusivamente por Nisei, chegou a ser o mais condecorado na história militar dos Estados Unidos, mas para os Fukuda isso nunca seria uma consolação.
A 14 de agosto de 1945, o Japão rendeu-se e começaram a fechar os campos de concentração. Os Fukuda receberam vinte e cinco dólares e um bilhete de comboio para o interior do Arizona. Como o resto dos evacuados, nunca mais mencionariam em público os anos de humilhação em que a sua lealdade e patriotismo foram postos em causa; sem honra a vida teria muito pouco valor. Shikata ga nai. Não foram autorizados a regressar a São Francisco, onde também não havia nada à espera deles. Takao tinha perdido o direito ao arrendamento dos terrenos que anteriormente cultivava e ao aluguer da sua casa; não lhe sobrara nada das suas poupanças ou do dinheiro que Isaac Belasco lhe entregou quando foi evacuado. Tinha um permanente ruído de motor no peito, tossia sem parar e quase não suportava as dores de costas, sentia-se incapaz de regressar às pesadas tarefas agrícolas, o único emprego disponível para um homem da sua condição. A julgar pela sua atitude fria, dava pouca importância à situação precária da família; a tristeza tinha-se cristalizado em indiferença. Sem a solicitude de Ichimei, que se preocupava em fazê-lo comer e em acompanhá-lo, ter-se-ia enfiado num canto a fumar até à morte, enquanto a sua mulher e filha faziam longos turnos numa fábrica para manter a família numa situação remediada. Por fim, os Isei podiam pedir a cidadania, mas nem isso foi suficiente para tirar Takao da sua prostração. Durante trinta e cinco anos desejara ter os mesmos direitos que qualquer americano e agora que tinha essa possibilidade a única coisa que queria era regressar ao Japão, a sua pátria derrotada. Heideko tentou levá-lo a registar-se no Serviço Nacional de Imigração. Acabou por ir sozinha, porque as poucas frases que o marido pronunciava eram para amaldiçoar os Estados Unidos.
Megumi teve novamente de adiar a sua decisão de estudar Medicina e a ilusão de se casar, mas Boyd Anderson, transferido para Los Angeles, não a esqueceu nem por um momento. As leis contra o matrimônio e a coabitação entre raças tinham sido abolidas em quase todos os estados, no entanto uma relação como a deles ainda seria considerada escandalosa; nenhum se atrevera a confessar aos pais que namoravam há mais de três anos. Para Takao Fukuda teria sido um cataclismo; nunca aceitaria a relação da filha com um branco e menos ainda com um que patrulhava as vedações da sua prisão no Utah. Seria obrigado a repudiá-la e a perderia também. Já tinha perdido Charles na guerra e James, deportado para o Japão, de quem não esperava voltar a ter notícias. Os pais de Boyd Anderson, imigrantes suecos de primeira geração, instalados no Omaha, tinham ganhado a vida com uma leitaria, até ficarem arruinados nos anos trinta e terem passado a cuidar de um cemitério. Eram pessoas de uma honestidade impoluta, muito religiosos, e tolerantes em termos raciais, mas o filho não ia falar-lhes de Megumi antes de esta aceitar um anel de compromisso.
Todas as segundas-feiras, Boyd começava uma carta e ia-lhe acrescentado parágrafos diários, inspirados em A Arte de Escrever Cartas de Amor, um livro em voga entre os soldados regressados da guerra, que tinham deixado namoradas noutras latitudes, e às sextas-feiras colocava-as no correio. Dois sábados por mês, este homem metódico decidira telefonar a Megumi, o que nem sempre conseguia, e aos domingos fazia apostas no hipódromo. Não possuía a compulsão irresistível do jogador, os vaivéns da sorte punham-no nervoso e agravavam-lhe a úlcera do estômago, mas descobrira acidentalmente a sua boa sorte nas corridas de cavalos e utilizava-a para aumentar o seu parco salário.
À noite estudava mecânica com o intuito de se retirar da carreira militar e abrir uma oficina no Havaí. Parecia-lhe o melhor lugar para se instalar, porque tinha uma numerosa população japonesa, que se livrara da afronta de ser internada, apesar de o ataque ao Japão ter ocorrido lá. Nas suas cartas, Boyd tentava convencer Megumi das vantagens do Havaí, onde poderiam criar os filhos com menos ódio racial, mas ela não estava a pensar em filhos. Megumi mantinha uma lenta e persistente correspondência com dois médicos chineses para averiguar a forma de estudar Medicina oriental, visto ser-lhe negado estudar a ocidental. Depressa descobriria que também para isso o facto de ser mulher e de origem japonesa era um obstáculo inultrapassável, como lhe advertira o seu mentor, Frank Delillo.
Aos catorze anos Ichimei entrou para a escola secundária. Como Takao estava paralisado pela melancolia e Heideko só dizia quatro palavras em inglês, coube a Megumi ser responsável pelo irmão. No dia em que o foi inscrever pensou que Ichimei se sentiria ali como se estivesse em casa: o edifício era tão feio e o terreno tão inóspito como em Topaz. Foram recebidos pela diretora do estabelecimento, miss Brody, que se empenhara durante os anos da guerra em tentar convencer os políticos e a opinião pública de que as crianças de famílias japonesas tinham direito à educação, como qualquer americano. Recolhera milhares de livros para enviar para os campos de concentração. Ichimei encadernara vários e lembrava-se perfeitamente deles, pois todos tinham uma nota de miss Brody na capa. O rapaz imaginava essa benfeitora como a fada madrinha do conto da Gata Borralheira e deparou-se com uma mulher corpulenta, com braços de lenhador e voz de pregoeiro.
— O meu irmão está atrasado nos estudos. Não é bom a ler, nem a escrever, e nem na aritmética — disse Megumi envergonhada.
— Então és bom em que, Ichimei? — perguntou diretamente miss Brody ao rapaz.
— Em desenhar e plantar — respondeu Ichimei num murmúrio, com o olhar fixo na ponta dos sapatos.
— Perfeito! Isso é precisamente o que nos faz falta aqui! — exclamou miss Brody.
Na primeira semana, as outras crianças bombardearam Ichimei com os epítetos contra a sua raça difundidos durante a guerra, mas que ele não ouvira em Topaz. O rapaz não sabia também que os japoneses eram mais odiados que os alemães, nem tinha visto as histórias ilustradas em que os asiáticos apareciam como degenerados e brutais. Suportou as graçolas com a sua equanimidade de sempre, no entanto, da primeira vez que um gandulo lhe pôs uma mão em cima, fê-lo dar uma reviravolta no ar com um movimento de judo que aprendera com o pai, o mesmo que anos antes usara para demonstrar a Nathaniel Belasco as possibilidades das artes marciais. De castigo, mandaram-no ao gabinete da diretora. «Muito bem, Ichimei», foi o único comentário dela. Depois daquele movimento magistral pôde completar os quatro anos de escola pública sem ser agredido.
16 de fevereiro de 2005
“Fui a Prescott, Arizona, visitar miss Brody. Fazia noventa e cinco anos e muitos dos seus ex-alunos se juntaram para os comemorar. Está muito bem para a idade dela, posso dizer-te que me reconheceu assim que me viu. Imagina só! Quantas crianças terão passado pelas suas mãos? Como é que consegue lembrar-se de todas? Lembrava-se de que eu pintava os cartazes para as festas da escola e que aos domingos trabalhava no seu jardim. Fui um péssimo estudante no secundário, um desastre, mas ela oferecia-me as notas. Graças a miss Brody, não sou completamente analfabeto e agora posso escrever-te, querida amiga.
Esta semana em que não pudemos ver-nos pareceu-me muito longa. A chuva e o frio contribuíram para que fosse especialmente triste. Também não consegui encontrar gardênias para te enviar, perdoa-me. Liga-me, por favor.”
Ichi
Boston
No primeiro ano da separação, Alma vivia pendente da correspondência, mas com o passar do tempo habituou-se ao silêncio do amigo, tal como se habituou ao silêncio dos pais e do irmão. Os tios procuravam protegê-la das más notícias que chegavam da Europa, em especial do destino dos judeus. Alma perguntava pela família e tinha de se conformar com respostas tão fantasiosas que a guerra adquiria o mesmo tom das lendas do rei Artur, que lera com Ichimei na pérgula do jardim. Segundo a tia Lillian, a falta de cartas era devida a problemas com os correios na Polônia e, no caso do irmão Samuel, a medidas de segurança em Inglaterra. Samuel efetuava missões vitais, perigosas e secretas na Real Força Aérea, dizia Lillian; estava condenado ao mais rigoroso dos anonimatos. Com que intuito ia contar à sobrinha que o irmão caíra com o avião dele em França? Isaac mostrava a Alma os avanços e retrocessos das tropas aliadas marcando um mapa com alfinetes, mas não tinha coragem para lhe contar a verdade sobre os pais. Desde que os Mendel tinham sido despojados dos seus bens e recluídos no infame gueto de Varsóvia, não tinha notícias deles. Isaac contribuía com somas avultadas para as organizações que tentavam ajudar as pessoas do gueto e sabia que o número de judeus deportados pelos nazis, entre julho e setembro de 1942, ascendia a mais de duzentos e cinquenta mil; tinha também conhecimento dos milhares que pereciam diariamente de inanição e de doenças.
O muro coroado de arame, que separava o gueto do resto da cidade, não era completamente impenetrável; tal como entravam alguns alimentos e medicamentos de contrabando e saíam as horrorosas fotografias de crianças a agonizar, existiam formas para se comunicar. Se nenhum dos recursos utilizados para localizar os pais de Alma dera resultado e se o avião de Samuel se despenhara, a única conclusão possível era que os três tinham perecido, mas enquanto não existissem provas irrefutáveis, Isaac Belasco evitaria essa dor à sobrinha.
Durante um tempo, Alma parecia ter-se adaptado aos tios, aos primos e à casa de Sea Cliff, mas na puberdade voltou a ser a rapariga taciturna que era quando chegou à Califórnia. Desenvolveu-se cedo e a primeira crise das hormonas coincidiu com a ausência indefinida de Ichimei. Tinha dez anos quando se separaram com a promessa de permanecerem unidos mentalmente e através do correio, onze quando as cartas começaram a escassear e doze quando a distância se tornou insuperável e ela se resignou a perder Ichimei. Cumpria sem reclamar com as suas obrigações numa escola que a entediava e comportava-se de acordo com as expectativas da sua família adotiva, tentando passar despercebida para evitar perguntas sentimentais, que desencadeariam a tempestade de rebeldia e angústia que guardava dentro de si. Nathaniel era o único a quem não enganava com a sua irrepreensível conduta. O rapaz possuía um sexto sentido para adivinhar quando a prima estava fechada dentro do armário e aparecia em bicos de pés vindo do outro extremo da mansão, para a tirar do esconderijo com súplicas murmuradas para não despertar o pai, que tinha bom ouvido e um sono leve, aconchegava-a na cama e ficava ao lado dela até adormecer. Ele andava também pela vida prudentemente em bicos de pés e com uma tempestade por dentro.
Contava os meses que lhe faltavam para terminar o secundário e partir para Harvard estudar leis, porque não se atrevera a opor-se à vontade do pai. A mãe queria que frequentasse a Escola de Direito de São Francisco, em vez de o ir fazer no extremo oposto do continente; mas Isaac Belasco defendia que o rapaz precisava de ir para longe, como ele fizera naquela idade. O seu filho devia tornar-se um homem responsável e de bem, um mensch.
Alma tomou a decisão de Nathaniel de ir para Harvard como uma afronta pessoal e juntou o primo à lista dos que a abandonavam: primeiro o irmão e os pais, depois Ichimei e agora ele. Concluiu que a sua sina era perder as pessoas que mais amava. Continuava agarrada a Nathaniel como no primeiro dia no cais de São Francisco.
— Vou escrever-te — garantiu-lhe Nathaniel.
— Ichimei disse-me a mesma coisa — replicou ela, enraivecida.
— Ichimei está num campo de internamento, Alma. Eu vou estar em Harvard.
— Mais longe ainda. Não é em Boston?
— Prometo que virei passar todas as férias contigo.
Enquanto ele fazia os preparativos para a viagem, Alma seguia-o pela casa como uma sombra, inventando pretextos para o fazer ficar, e quando isso não resultou, a inventar razões para gostar menos dele. Aos oito anos apaixonara-se por Ichimei com a intensidade dos amores da infância e de Nathaniel com o amor sereno da velhice. No coração dela ambos ocupavam funções diferentes e eram igualmente indispensáveis; tinha a certeza de que sem Ichimei e sem Nathaniel não conseguiria sobreviver. Tinha desejado o primeiro com veemência, sentia a necessidade de o ver constantemente, de escapulir-se com ele até ao jardim de Sea Cliff que se estendia até à praia, repleto de magníficos esconderijos para descobrirem juntos a linguagem infalível das carícias.
Desde que Ichimei estava em Topaz, ela alimentava-se das lembranças do jardim e das páginas do seu diário, repletas até às margens de suspiros em letras minúscula. Nessa idade dava já mostras de uma tenacidade feroz no amor. Com Nathaniel, pelo contrário, nunca lhe teria ocorrido esconder-se no jardim. Desejava-o de forma exclusivista e julgava conhecê-lo como ninguém, tinham dormido de mãos dadas nas noites em que ele a resgatava do armário, era o seu confidente, o seu amigo íntimo. A primeira vez que descobriu manchas escuras na roupa interior, esperou a tremer de terror que Nathaniel regressasse da escola para o arrastar para a casa de banho e lhe mostrar a prova fidedigna de que estava a sangrar por baixo. Nathaniel tinha uma ideia aproximada da causa, mas não das medidas práticas, e foi ele que teve de as ir perguntar à mãe, pois Alma não se atreveu. O rapaz sabia de tudo o que acontecia à rapariga. Ela dera-lhe uma cópia da chave dos seus diários de vida, embora ele não precisasse de os ler para estar a par de tudo.
Alma terminou o secundário um ano antes de Ichimei. Nessa época tinham perdido completamente o contacto, mas ela sentia a sua presença, porque no monólogo ininterrupto do diário escrevia-lhe, mais por fidelidade do que por nostalgia. Já se resignara ao facto de não voltar a vê-lo, no entanto, à falta de outros amigos, alimentava um amor de heroína trágica com as recordações dos jogos secretos no jardim. Enquanto ele trabalhava como jornaleiro de sol a sol num campo de beterraba, ela participava de má vontade nos bailes de debutantes que lhe eram impostos pela tia Lillian. Havia festas na mansão dos tios e outras no pátio interior do hotel Palace, com meio século de história, um fabuloso teto de vidro, enormes candeeiros de cristal e palmeiras tropicais em vasos de louça portuguesa.
Lillian assumira o dever de a casar bem, convencida de que seria mais fácil do que fora casar as suas filhas pouco agraciadas, mas deparou-se com o facto de Alma sabotar os seus melhores planos. Isaac Belasco imiscuía-se muito pouco na vida das mulheres da família, porém nessa ocasião não conseguiu calar-se.
— Isto de andar à caça de um marido é indigno, Lillian!
— És mesmo inocente, Isaac! Julgas que estarias casado comigo se a minha mãe não te tivesse posto um laço no pescoço?
— Alma é uma miúda. Casar antes dos vinte e cinco anos devia ser ilegal.
— Vinte e cinco! Com essa idade já não encontrará um bom partido em lado nenhum, Isaac, vão estar todos ocupados — alegou Lillian.
A sobrinha queria ir estudar para longe e Lillian acabou por aceder; um ou dois anos de educação superior são sempre um trunfo, pensou. Decidiram que Alma iria para uma universidade feminina em Boston, onde ainda estava Nathaniel, que podia defendê- la dos perigos e das tentações da cidade. Lillian deixou de lhe apresentar candidatos potenciais e começou a preparar-lhe o enxoval necessário de saias redondas como um prato e conjuntos de casaco e camisolinha de angora em tons pastel, pois estavam na moda, embora não favorecessem minimamente uma rapariga de estrutura esguia e feições bem definidas, como ela.
A rapariga insistiu em viajar sozinha, apesar da apreensão da tia, que andava à procura de alguém que fosse naquela direção para a mandar acompanhada com uma pessoa respeitável, e partiu num voo de Braniff para Nova Iorque, onde apanharia o comboio para Boston. Ao desembarcar, encontrou Nathaniel no aeroporto. Os pais tinham-no avisado através de um telegrama e ele decidiu ir esperá-la para lhe fazer companhia no comboio. Os primos abraçaram-se com as saudades acumuladas durante sete meses, desde a última visita de Nathaniel a São Francisco, e interrompendo-se um ao outro ficaram a par das notícias familiares, enquanto um carregador negro de uniforme punha a bagagem num carro para os seguir até ao táxi.
Nathaniel contou as malas e as caixas de chapéus e perguntou à prima se trazia roupa para vender.
— Não podes criticar-me, tu foste sempre um dandy — respondeu ela.
— Quais são os teus planos, Alma?
— O que te disse por carta, primo. Sabes que adoro os teus pais, mas estou a sufocar naquela casa. Tenho de me tornar independente.
— Estou a ver. Com o dinheiro do meu pai?
Esse pormenor tinha escapado a Alma. O primeiro passo para se tornar independente era conseguir um diploma fosse lá do que fosse. Ainda não tinha encontrado a sua vocação.
— A tua mãe anda à procura de um marido para mim. Não tenho coragem de lhe dizer que vou casar com Ichimei.
— Acorda de uma vez, Alma, há mais de dez anos que Ichimei desapareceu da tua vida.
— Oito anos, não dez.
— Esquece-o. Mesmo que se desse o caso, pouco provável, de ele reaparecer e estar interessado em ti, sabes muito bem que não podes casar-te com ele.
— Porquê?
— Como porquê? Porque é de outra raça, de outra classe social, de outra cultura, de outra religião, de outro nível econômico. Queres mais razões?
— Então vou ficar solteira. E tu, tens alguma namorada, Nat?
— Não, mas quando tiver serás a primeira a sabê-lo.
— Melhor assim. Podemos fazer os outros pensarem que somos namorados.
— Para quê?
— Para desencorajar quem decidir aproximar-se.
A prima mudara de aspeto nos últimos meses: já não era a colegial de soquetes, a roupa nova dava-lhe uma ar de mulher elegante, mas Nathaniel, depositário das confidências dela, não se impressionou com o cigarro nem com o fato azul-marinho e o chapéu, nem com as luvas e os sapatos cor de cereja. Alma continuava a ser a rapariguinha mimada que se agarrou a ele, assustada com a multidão e o ruído de Nova Iorque, e não o largou até se encontrar no quarto de hotel. «Fica a dormir comigo, Nat», suplicou, com a mesma expressão assustada que tinha na infância a soluçar dentro do armário, contudo ele perdera a inocência e agora dormir com ela adquiria outro cariz. No dia seguinte, transportando a complexa bagagem, apanharam o comboio para Boston.
Alma imaginava que a universidade de Boston ia ser uma extensão mais livre da escola secundária, que ela concluíra num abrir e fechar de olhos. Preparava-se para mostrar o seu enxoval, fazer vida boêmia nos cafés e bares da cidade com Nathaniel e assistir a algumas aulas no seu tempo livre, para não defraudar as expectativas dos tios. Descobriu muito rapidamente que ninguém olhava para ela, que o primo tinha sempre uma desculpa para a deixar plantada e que estava muito mal preparada para enfrentar os estudos. Coube-lhe partilhar o quarto com uma rapariga gordinha da Virgínia, que logo que teve oportunidade lhe apresentou provas bíblicas da superioridade da raça branca. Negros, amarelos e peles-vermelhas eram descendentes dos macacos; Adão e Eva eram brancos; Jesus devia ser americano, não tinha bem a certeza. Não concordava com a conduta de Hitler, dizia, mas tínhamos de admitir que relativamente à questão dos judeus não deixava de ter razão: eram uma raça condenada, porque tinham matado Jesus. Alma pediu para a mudarem para outro quarto. A autorização demorou duas semanas e a sua nova companheira revelou-se um compêndio de manias e fobias, mas pelo menos não era antissemita.
A jovem passou os três primeiros meses confusa, sem conseguir organizar sequer as coisas mais simples, como refeições, lavandaria, transportes ou o horário; quem se encarregava sempre dessas coisas tinham sido as suas preceptoras e depois a sua abnegada tia Lillian. Nunca fizera uma cama ou passara a ferro uma blusa, para isso existiam as empregadas domésticas; tão-pouco tivera de se cingir a uma mesada, porque em casa dos tios não se falava de dinheiro. Ficou surpreendida quando Nathaniel lhe explicou que na sua mesada não estavam previstos restaurantes, salões de chá, manicura, cabeleireiro ou massagista. Uma vez por semana, o primo aparecia, com um caderno e um lápis na mão, para lhe ensinar a gerir os seus gastos. Ela prometia emendar-se, mas na semana seguinte voltava a ter dívidas. Sentia-se uma forasteira naquela cidade senhorial e soberba; as companheiras excluíam-na e os rapazes desprezavam-na. Não contava nada disto aos tios nas cartas que lhes enviava, e sempre que Nathaniel a aconselhava a regressar a casa repetia-lhe que qualquer coisa era preferível a passar pela humilhação de regressar com o rabo entre as pernas. Fechava-se na casa de banho, como fazia antes no armário, e abria o chuveiro para que o ruído abafasse os palavrões com que maldizia a sua pouca sorte.
Em novembro o peso do inverno desabou sobre Boston. Alma passara os seus primeiros sete anos em Varsóvia, mas já não se lembrava do clima; nada a tinha preparado para o que lhe caiu em cima nos meses que se seguiram. Fustigada pelo granizo, temporais e neve, a cidade perdeu a cor; a luz desapareceu, era tudo cinzento e branco. A vida decorria dentro de portas, a tremer de frio, o mais próximo possível dos aquecedores.
Por muita roupa que Alma vestisse, o frio gretava-lhe a pele e entranhava-se-lhe nos ossos assim que punha um pé lá fora. Incharam-lhe as mãos e os pés com frieiras e a tosse e as constipações eternizavam-se. Tinha de se munir com todas as forças, para sair da cama pelas manhãs, encher-se de roupa como um esquimó e desafiar a intempérie para passar de um edifício para o outro no colégio, colada aos muros para que o vento não a deitasse ao chão, arrastando os pés sobre o gelo. As ruas tornavam-se intransitáveis, os veículos amanheciam tapados por montes de neve, que os donos tinham de atacar com picaretas e pás; as pessoas andavam encolhidas, envoltas em lã e peles; desapareciam as crianças, os animais de estimação e os pássaros. E então, quando Alma aceitara finalmente a sua derrota e admitira a Nathaniel que estava preparada para telefonar aos tios e suplicar-lhes que a resgatassem daquele frigorífico, teve o primeiro encontro com Vera Neumann, a artista plástica e empresária que pusera a sua arte ao alcance das pessoas comuns em lenços, lençóis, toalhas, pratos, roupa, enfim, em qualquer coisa que se pudesse pintar ou imprimir. Vera registara a marca dela em 1942 e em poucos anos criara um nicho de mercado. Alma recordava vagamente que a sua tia Lillian disputava com as amigas ter a honra de ser a primeira em cada temporada a estrear os lenços ou vestidos com os desenhos de Vera, no entanto não sabia nada sobre a artista. Assistiu a uma palestra dela por impulso, para escapar ao frio entre duas aulas, e sentou-se no fundo de uma sala cheia, cujas paredes estavam cobertas de tecidos pintados. Todas as cores, que tinham fugido a correr do inverno de Boston, estavam cativas naquelas paredes, ousadas, caprichosas, fantásticas.
O público recebeu a conferencista de pé com uma ovação e uma vez mais Alma apercebeu-se da sua ignorância. Não suspeitava de que a criadora dos lenços da sua tia Lillian fosse uma celebridade. Vera Neumann não se impunha pela presença, tinha um metro e meio de altura e era uma pessoa tímida, escondida atrás dos óculos de massa escura que lhe tapavam metade da cara, mas logo que abriu a boca ninguém teve dúvidas de que se tratava de uma gigante.
Alma quase não conseguia vê-la em cima do estrado, mas ouviu todas as palavras dela, sentindo um nó no estômago e tendo a nítida impressão de que aquele era um momento fulcral na sua vida. Numa hora e quinze minutos aquela mulherzinha excêntrica, brilhante, feminista e diminuta entusiasmou a audiência com os relatos das suas viagens incansáveis, fonte de inspiração para as suas diversas coleções: Índia, China, Guatemala, Islândia, Itália e o resto do planeta. Falou da sua filosofia, das técnicas que utilizava, da comercialização e difusão dos seus produtos, dos obstáculos superados pelo caminho.
Nessa noite Alma telefonou a Nathaniel para lhe anunciar o seu futuro com gritos de entusiasmo: ia seguir os passos de Vera Neumann.
— De quem?
— Da pessoa que desenhou os lençóis e toalhas dos teus pais, Nat. Não vou perder mais tempo com aulas que não me vão servir para nada. Decidi estudar desenho e pintura na universidade. Vou frequentar os ateliers de Vera e depois vou viajar pelo mundo, como ela.
Meses mais tarde, Nathaniel concluiu os seus estudos de Direito e regressou a São Francisco, mas Alma não quis acompanhá-lo, apesar da pressão da sua tia Lillian que queria que ela voltasse para a Califórnia. Suportou quatro invernos em Boston sem voltar a falar no clima, a desenhar e a pintar incansavelmente. Não possuía a desenvoltura de Ichimei para o desenho nem a audácia de Vera Neumann para as cores, por isso decidiu superar com bom gosto o que lhe faltava em talento. Os desenhos dela iam ser mais elegantes do que os de Vera, porque a sua intenção não era satisfazer o gosto popular e triunfar na área comercial, desejava criar por diversão.
A possibilidade de trabalhar para viver nunca lhe passara pela cabeça. Nada de lenços a dez dólares ou lençóis e guardanapos por atacado; ia pintar ou estampar somente algumas peças de roupa, sempre em seda da melhor qualidade, assinadas individualmente. Aquilo que saísse da sua mão seria tão exclusivo e caro que as amigas da sua tia Lillian iam matar-se umas às outras para o conseguirem. Ao longo desses anos venceu a paralisia que aquela cidade imponente lhe provocava, aprendeu a movimentar- se, a beber coquetéis sem perder completamente o tino e a fazer amizades. Chegou a sentir-se tão bostoniana que, quando ia passar férias à Califórnia, achava que estava num país atrasado de outro continente. Conseguiu também alguns admiradores nas pistas de dança, onde a prática frenética com Ichimei na sua infância aportou dividendos, e teve uma primeira relação sexual sem cerimônia, atrás de uma moita num piquenique. Isso aplacou a sua curiosidade e o complexo de ser virgem depois dos vinte anos. Depois teve dois ou três encontros semelhantes com diferentes jovens, nada memoráveis, que confirmaram a sua decisão de esperar por Ichimei.
Ressureição
Duas semanas antes de terminar a licenciatura, Alma telefonou a Nathaniel, em São Francisco, para organizar os pormenores da viagem dos Belasco a Boston. Era a primeira mulher na família a obter um título universitário e o facto de ser em Desenho e História da Arte, disciplinas algo obscuras, não lhe retirava mérito. Até mesmo Martha e Sarah assistiriam à cerimônia, em parte porque pensavam continuar até Nova Iorque para fazer compras. No entanto, o tio Isaac estaria ausente; o cardiologista proibira-o de fazer viagens de avião. O tio estava decidido a desobedecer à ordem, porque tinha mais afeto por Alma do que pelas próprias filhas, mas Lillian não lho permitiu. Na conversa com o primo, Alma referiu brevemente que nos últimos dias tinha a sensação de estar a ser observada. Não dera muita importância ao assunto, disse, de certeza que era imaginação sua, andava nervosa com os exames finais, mas Nathaniel insistiu em saber os pormenores. Duas chamadas telefônicas anônimas em que alguém — uma voz masculina com um sotaque estrangeiro — lhe perguntava se era ela e a seguir desligava; a desagradável sensação de ser observada e seguida; um homem que indagara sobre ela às suas colegas e, pela descrição que as amigas lhe deram, parecia ser o mesmo que ela própria tinha visto várias vezes, alguns dias antes numa aula, nos corredores, na rua.
Nathaniel, com a sua perspicácia de advogado, aconselhou-a a avisar por escrito a polícia do campus, como medida de proteção legal: se acontecesse alguma coisa, existiria o registo das suas suspeitas. Ordenou-lhe também que não saísse sozinha à noite. Alma não lhe ligou nenhuma.
Era a temporada de festas extravagantes em que os estudantes se despediam da universidade. Entre música, álcool e dança, Alma esqueceu-se da sombra sinistra que imaginara, até à sexta-feira anterior à sua graduação. Passara uma boa parte da noite numa festa tresloucada, a beber demasiado e mantendo-se de pé com cocaína, duas coisas que tolerava mal. Às três da madrugada um ruidoso grupo de jovens num carro descapotável deixou-a em frente à sua residência. A cambalear, despenteada e com os sapatos na mão, Alma procurou a chave na carteira, mas não a conseguiu encontrar antes de cair de joelhos, vomitando até ficar sem nada no estômago. Os vômitos secos continuaram ainda por longos minutos, enquanto lhe corriam lágrimas pela cara abaixo. Por fim, tentou levantar-se, empapada em transpiração, com espasmos no estômago, a tiritar e a gemer de desolação. De repente, um par de garras cravou-se nos seus braços e sentiu que a levantavam do solo e a sustinham de pé. «Alma Mendel, devias sentir-te envergonhada!» Não reconheceu a voz do telefone. Dobrou-se, vencida de novo pelas náuseas, mas as garras apertaram-na com mais firmeza. «Largue-me, largue-me!», pronunciou, enquanto esperneava. Uma bofetada na cara devolveu-lhe por uns instantes um pouco de sobriedade e conseguiu ver a forma de um homem, um rosto escuro marcado por riscos semelhantes a cicatrizes, um crânio barbeado. Inexplicavelmente, sentiu um profundo alívio, fechou os olhos e abandonou-se à desgraça da bebedeira e da incerteza de se encontrar nos braços férreos de um desconhecido que acabava de a agredir.
Às sete da manhã de sábado, Alma acordou envolta numa manta tosca, que lhe arranhava a pele, no assento de trás de um carro. Cheirava a vomitado, urina, tabaco e álcool. Não sabia onde estava e não se lembrava de nada do que acontecera na noite anterior. Sentou-se e tentou endireitar a roupa, e então percebeu que tinha perdido o vestido e o saiote, estava em sutiã, calcinhas e ligas, com as meias rotas e descalça. Sinos desapiedados repicavam dentro da sua cabeça, tinha frio, a boca seca e muito medo. Voltou a deitar-se, encolhida, a gemer e a chamar por Nathaniel.
Momentos mais tarde sentiu que a abanavam. Abriu os olhos com dificuldade e, tentando ver com nitidez, vislumbrou a silhueta de um homem, que abrira a porta e se inclinava sobre ela.
— Café e aspirinas. Isto vai ajudar um pouco — disse, dando-lhe um copo de papel e dois comprimidos.
— Deixe-me, tenho de ir embora — replicou ela, com a voz pastosa, tentando levantar-se.
— Não podes ir a lado nenhum nessas condições. A tua família vai chegar daqui a umas horas. A cerimônia de graduação é amanhã. Toma o café. E, caso queiras saber, sou o teu irmão Samuel.
E assim ressuscitou Samuel Mendel, onze anos depois de ter morrido em França.
Após a guerra, Isaac Belasco obtivera provas fidedignas da sorte que tiveram os pais de Alma no campo de extermínio dos nazis, próximo da aldeia de Treblinka, ao norte da Polônia. Os russos não documentaram a libertação do campo, como os americanos fizeram noutros lugares, e oficialmente sabia-se muito pouco do que acontecera naquele inferno, mas a Agência Judaica calculava que ali tinham perecido oitocentas e quarenta mil pessoas, entre julho de 1942 e outubro de 1943, e dessas, oitocentas mil eram judias.
Em relação a Samuel Mendel, Isaac averiguou que o avião fora derrubado na zona de França ocupada pelos alemães e, de acordo com os registos militares britânicos, não tinha havido sobreviventes. Nessa época, Alma estava já há muitos anos sem saber nada dos elementos da sua família e dera-os como mortos mesmo antes de o tio lho ter confirmado. Ao ter conhecimento de tal facto, Alma não chorou por eles como seria de esperar, porque durante aqueles anos tinha exercitado tanto o controlo dos seus sentimentos que perdera o hábito de os expressar. Isaac e Lillian consideraram que era necessário encerrar definitivamente aquela tragédia e levaram Alma à Europa. No cemitério da aldeia francesa, onde caiu o avião de Samuel, puseram uma placa memorial com o nome dele, as datas de nascimento e da morte. Não conseguiram autorização para visitar a Polônia, controlada pelos soviéticos; essa peregrinação seria realizada por Alma muito mais tarde. A guerra terminara há quatro anos, mas a Europa estava ainda em ruínas e grupos de pessoas deslocadas vagueavam à procura de uma pátria. A conclusão de Alma foi que apenas uma vida não seria suficiente para pagar o privilégio de ser a única sobrevivente da sua família.
Abalada pela declaração do desconhecido que dizia ser Samuel Mendel, Alma levantou-se do assento do carro e engoliu o café e as aspirinas em três goles. Aquele homem não se parecia com o jovem de faces rubicundas e expressão brincalhona de quem ela se despedira no cais de Danzig. O seu verdadeiro irmão era aquela recordação imprecisa e não o indivíduo que tinha à sua frente, enxuto, seco, de olhos duros e boca cruel, pele queimada pelo sol e a cara marcada por rugas profundas e duas cicatrizes.
— Como posso ter a certeza de que és o meu irmão?
— Não podes. Mas não ia estar aqui a perder o meu tempo contigo se não fosse.
— Onde está a minha roupa?
— Na lavandaria. Estará pronta dento de uma hora. Temos tempo para conversar.
Samuel contou-lhe que a última coisa que vira quando lhe derrubaram o avião foi o mundo desde cima a andar à roda. Não chegou a saltar de paraquedas, tinha a certeza disso, porque nesse caso os alemães tê-lo-iam descoberto, e não conseguia explicar muito bem como conseguira salvar-se da morte quando a máquina se despenhou e incendiou. Supunha que fora projetado do assento na queda e que aterrou na copa das árvores, onde ficou pendurado. A patrulha inimiga encontrou o corpo do seu copiloto e não procurou mais. Ele fora resgatado por dois elementos da resistência francesa, com muitos ossos partidos e amnésico; ao verificarem que era circuncidado entregaram-no a um grupo da resistência judaica. Esconderam-no durante meses em grutas, estábulos, subterrâneos, fábricas abandonadas, casas de gente bondosa disposta a ajudá-lo, mudando-o de um sítio para outro com regularidade, até que os seus ossos partidos se soldaram. Então deixou de ser um peso e pode integrar o grupo como combatente. A neblina que lhe ofuscava a mente demorou muito mais tempo a dissipar-se do que os ossos a curarem-se. Por causa do uniforme que tinha vestido quando o encontraram, sabia que vinha de Inglaterra. Percebia inglês e francês, mas respondia em polaco; passariam meses até recuperar os outros idiomas que dominava. Como não sabiam o nome dele, os companheiros alcunharam-no de Caracortada, por causa das cicatrizes, mas ele decidiu chamar-se Jean Valjean, como o protagonista do romance de Victor Hugo, que lera durante a convalescença. Lutou junto dos companheiros numa guerra de escaramuças que parecia não ter fim.
As forças alemãs eram tão eficientes, o seu orgulho tão monumental, a sua sede de poder e de sangue tão insaciável, que as ações do grupo de Samuel não conseguiram sequer arranhar a couraça do monstro. Viviam na sombra, movendo-se como ratazanas desesperadas, com uma constante sensação de fracasso e de inutilidade, mas seguiam em frente, porque não havia outra alternativa. Cumprimentavam-se com uma única palavra: vitória. Despediam-se da mesma maneira: vitória. O final era previsível: capturado durante uma ação, foi enviado para Auschwitz.
No fim da guerra, depois de sobreviver ao campo de concentração, Jean Valjean conseguiu embarcar clandestinamente para a Palestina, onde chegavam vagas de refugiados judeus, apesar dos esforços da Grã-Bretanha, que controlava a região e tentava impedi-lo para evitar um conflito com os árabes. A guerra transformara-o num lobo solitário que nunca baixava a guarda. Contentava-se com conquistas casuais até que uma delas, companheira da Mossad, a agência israelita de espionagem que integrara, uma investigadora minuciosa e atrevida, lhe anunciou que ia ser pai. Chamava-se Anat Rákosi e emigrara da Hungria com o pai, únicos sobreviventes de uma família numerosa. Mantinha com Samuel uma relação afetuosa, sem romance nem futuro, que era cômoda para ambos e que não se teria alterado se não fosse a inesperada gravidez. Anat pensava que era estéril por causa da fome, das agressões, das violações e das «experiências» médicas de que fora alvo. Ao verificar que não era um tumor que lhe inchava o ventre, mas uma criança, atribuiu-o a uma brincadeira de Deus. Não disse nada ao amante até ao sexto mês. «Caramba! Eu pensava que finalmente tinhas engordado um pouco», foi o comentário dele, porém não conseguiu disfarçar o entusiasmo. «A primeira coisa a fazer vai ser averiguar quem és tu, para que esta criança saiba a sua origem.
O apelido Valjean é melodramático», disse-lhe ela. Ele fora adiando ano após ano a decisão de descobrir a sua identidade, mas Anat iniciou a investigação de imediato, com a mesma tenacidade com que descobria para a Mossad os esconderijos dos criminosos nazis, que tinham escapado aos julgamentos de Nuremberga. Começou por Auschwitz, o último paradeiro de Samuel antes do armistício, e foi desfiando o fio da história passo a passo. Com uma barriga enorme foi a França falar com um dos poucos membros da resistência judaica que ainda permanecia nesse país, e ele ajudou-a a localizar os combatentes que tinham resgatado o piloto do avião inglês; não foi fácil, porque depois da guerra todos os franceses passaram a ser heróis da resistência. Anat acabou em Londres a rever os arquivos da Real Força Aérea, onde encontrou várias fotografias de jovens que tinham parecenças com o seu amante. Não tinha mais nada a que se agarrar. Telefonou-lhe e leu-lhe cinco nomes. «Algum te diz alguma coisa?», perguntou-lhe. «Mendel! Tenho a certeza. O meu apelido é Mendel», respondeu ele, sem conseguir esconder um soluço preso na garganta.
— O meu filho tem quatro anos, chama-se Baruj, como o nosso pai. Baruj Mendel — contou Samuel a Alma, sentado ao seu lado no assento de trás do carro.
— Casaste-te com Anat?
— Não. Estamos a tentar viver juntos, mas não é fácil.
— Sabes de mim há quatro anos, e até agora não te ocorreu vir ver-me? — censurou-o Alma.
— Porque havia de procurar-te? O irmão que tu conheceste morreu num acidente aéreo. Não resta nada do rapaz que se alistou como piloto em Inglaterra. Conheço a história porque Anat insiste em repeti-la, no entanto não a sinto como minha, é uma história vazia, sem significado. A verdade é que não me lembro de ti, mas tenho a certeza de que és minha irmã, pois Anat não se engana neste tipo de coisas.
— Eu lembro-me que tive um irmão que brincava comigo e tocava piano, mas tu não és parecido com ele.
— Não nos vimos durante anos e, já te disse, não sou a mesma pessoa.
— Por que é que decidiste aparecer agora?
— Não vim por tua causa, estou a cumprir uma missão, porém não posso falar disso. Aproveitei a viagem para vir a Boston porque Anat acha que Baruj precisa de uma tia. O pai de Anat morreu há alguns meses. Não lhe resta ninguém da família dela nem da minha, apenas tu. Não pretendo impor-te nada, Alma, apenas quero que saibas que estou vivo e que tens um sobrinho. Anat manda-te isto — disse.
Entregou-lhe uma fotografia a cores do menino com os pais. Anat Rákosi estava sentada, com o filho no regaço; era uma mulher muito magra, insípida, de óculos redondos. Junto deles estava Samuel, também sentado. Com os braços cruzados sobre o peito. O menino tinha feições bem definidas e o cabelo aos cachos e escuro do pai. Por trás da foto Samuel escrevera a morada de Tel Aviv.
— Vai visitar-nos, Alma, para conheceres Baruj — disse-lhe ao despedir-se, depois de ir levantar o vestido à lavandaria e de a conduzir à residência.
A espada dos Fukuda
A agonia dele durou semanas. Com os pulmões carcomidos pelo cancro, a respirar entre estertores como um peixe fora de água, para Takao Fukuda era difícil morrer. Quase não conseguia falar e estava tão debilitado que as suas tentativas de comunicar por escrito eram inúteis, porque as mãos inchadas e trémulas não conseguiam desenhar os delicados caracteres japoneses. Recusava-se a comer e, à mais pequena distração da família ou das enfermeiras, arrancava a sonda que o alimentava. Rapidamente submergiu num torpor pesado, mas Ichimei, que se revezava com a mãe e a irmã para o acompanhar no hospital, sabia que estava consciente e angustiado. Ajeitava-lhe as almofadas para o manter semierguido, limpava-lhe o suor, esfregava-lhe a pele escamosa com loção, punha-lhe pedacinhos de gelo na língua, falava-lhe de plantas e de jardins. Num desses momentos de intimidade, reparou que os lábios do pai se mexiam repetidamente pronunciando algo que parecia uma marca de cigarros, mas a ideia de que naquelas circunstâncias ainda quisesse fumar era tão despropositada que a pôs de parte. Passou a tarde a tentar descortinar o que Takao tentava transmitir-lhe. «Kemi Morita? É o que está a dizer, pai? Quer vê-la?», perguntou-lhe por fim. Takao assentiu com a pouca energia que lhe restava. Era a líder espiritual da Oomoto, uma mulher com reputação de falar com os espíritos, que Ichimei conhecia, porque viajava frequentemente para se reunir com as pequenas comunidades da sua religião.
— O pai quer que chamemos Kemi Morita — disse Ichimei a Megumi.
— Ela vive em Los Angeles, Ichimei.
— Quanto temos em poupanças? Podíamos comprar-lhe o bilhete.
Quando Kemi Morita chegou, Takao já não se mexia nem abria os olhos. O seu único sinal de vida era o ronronar do ventilador; estava suspenso no limbo, à espera. Megumi conseguiu que uma colega da fábrica lhe emprestasse o automóvel e foi buscar a sacerdotisa ao aeroporto. A mulher parecia uma criança de dez anos de pijama branco. O cabelo grisalho, os ombros encurvados e a forma como arrastava os pés contrastavam com a sua cara lisa, sem rugas, uma máscara de serenidade de cor bronze.
Kemi Morita aproximou-se da cama com passinhos curtos e pegou-lhe na mão; Takao entreabriu as pálpebras e demorou um pouco a reconhecer a sua mestre espiritual. Então uma expressão quase imperceptível animou o seu rosto imóvel. Ichimei, Megumi e Heideko recuaram para o fundo do quarto, enquanto Kemi murmurava uma longa oração ou um poema num japonês arcaico. Depois colou a orelha à boca do moribundo. Ao fim de longos minutos, Kemi beijou Takao na testa e dirigiu-se à família.
— Estão aqui a mãe, o pai e os avós de Takao. Vieram de muito longe para o guiarem até ao Outro Lado — disse em japonês, apontando para os pés da cama. — Takao está pronto para partir, mas antes quer transmitir uma mensagem a Ichimei. Esta é a mensagem: «A katana dos Fukuda está enterrada num jardim sobre o mar. Não pode ficar lá. Ichimei, deves recuperá-la e colocá-la no sítio a que pertence, o altar dos antepassados da nossa família.»
Ichimei recebeu a mensagem com uma profunda inclinação, levando as duas mãos juntas à testa. Não se lembrava com nitidez da noite em que enterraram a espada dos Fukuda, os anos tinham dissipado aquele momento, no entanto Heideko e Megumi sabiam qual era esse jardim sobre o mar.
— Takao pede um último cigarro — acrescentou Kemi Morita antes de se retirar.
Ao regressar de Boston, Alma verificou que durante o período da sua ausência a família Belasco mudara mais do que se percebia nas cartas. Nos primeiros dias sentiu-se a mais, como uma visita de passagem, perguntando a si mesma qual era o lugar dela naquela família e que raio ia fazer da sua vida. São Francisco parecia-lhe provinciano; para fazer nome com a sua pintura tinha de ir viver para Nova Iorque, onde estaria entre artistas de renome e mais próxima da influência da Europa.
Tinham nascido três netos aos Belasco, um menino de três meses filho de Martha e as gémeas de Sarah, que devido a um erro das leis da genética tinham nascido com aspeto de escandinavas. Nathaniel era o responsável pela firma do pai, vivia sozinho numa penthouse com vistas sobre a baía e ocupava as horas livres a navegar no seu veleiro. Era de poucas palavras e de poucos amigos. Aos vinte e sete anos continuava a resistir às investidas agressivas da mãe para lhe conseguir uma esposa adequada. Havia candidatas de sobra, porque Nathaniel era de boas famílias, tinha dinheiro e aspeto de galã, era o mensch que o pai desejava e que todas as raparigas casadouras da colônia judaica tinham debaixo de olho. A tia Lillian tinha mudado pouco, continuava a ser a mulher bondosa e ativa de sempre, porém a sua surdez tinha aumentado, falava aos gritos e tinha a cabeça cheia de brancas, que não pintava, porque não desejava parecer mais jovem, bem pelo contrário.
Ao marido parecia que lhe tinham caído em cima duas décadas de repente e os poucos anos de idade que os separavam pareciam ter triplicado. Isaac sofrera um ataque de coração e, embora tivesse recuperado, estava debilitado. Ia duas horas por dia ao escritório por disciplina, no entanto delegara o trabalho em Nathaniel; abandonou por completo a vida social, que nunca o atraíra, lia muito, deleitava-se com a paisagem do mar e da baía na pérgula do seu jardim, cultivava rebentos na estufa, estudava textos de leis e de plantas. Tornara-se mais sensível e as menores emoções umedeciam-lhe os olhos. Lillian tinha uma fisgada de medo cravada no estômago. «Jura que não vais morrer antes de mim, Isaac», exigia ela naqueles momentos em que o marido sentia falta de ar e se arrastava para a cama para desabar lá em cima tão pálido como os lençóis, com os movimentos paralisados. Lillian não sabia nada de cozinha, sempre contara com um chef, mas, desde que o marido começou a definhar, ela mesma lhe preparava umas sopas infalíveis com as receitas que a mãe lhe legara, anotadas à mão num caderno. Obrigara-o a consultar uma dúzia de médicos, acompanhava-o às consultas para evitar que lhe escondesse os seus males e dava-lhe os medicamentos. Recorria além disso a recursos esotéricos. Evocava Deus, não só ao amanhecer e ao entardecer, como devia ser, mas a toda a hora: Shemá Ysrael, Adonai Eloeinu, Adonai Ejad. Para proteção, Isaac dormia com um olho de vidro turco e com uma mão de Fátima de latão pintado pendurados na cabeceira da cama; havia sempre uma vela acesa sobre a cômoda, junto a uma Bíblia hebraica, outra cristã e a um frasco de água benta, que uma das empregadas da casa trouxera da capela de São Judas.
— O que é isto? — perguntou Isaac no dia em que apareceu um esqueleto com um chapéu na sua mesa de cabeceira.
— O barão de Samedi. Enviaram-me de Nova Orleans. É a divindade da morte e também da saúde — informou Lillian.
O primeiro impulso de Isaac foi eliminar com uma sapatada os fetiches que tinham invadido o seu quarto, mas o amor pela mulher foi mais forte. Não lhe custava nada fazer vista grossa se aquilo ajudava Lillian, que estava a escorregar inexoravelmente pelo limiar do pânico. Não lhe podia oferecer outra consolação. Estava admirado perante o seu declínio físico, pois fora forte e saudável e achava-se indestrutível. Um cansaço surpreendente corroía-lhe os ossos e só a sua vontade de ferro lhe permitia cumprir com as responsabilidades que impusera si próprio. Entre elas estava o permanecer vivo para não defraudar a sua mulher.
A chegada de Alma trouxe-lhe um sopro de vivacidade. Não era dado a demonstrações sentimentais, porém a pouca saúde tornara-o vulnerável e tinha de ter muito cuidado para que a torrente de ternura que guardava dentro não transbordasse. Apenas Lillian, nos momentos de intimidade, vislumbrava esse lado da personalidade do marido. O filho Nathaniel era o suporte em que Isaac se apoiava, o melhor amigo, o sócio e o confidente, mas nunca sentira a necessidade de lho dizer; ambos o tinham como um dado adquirido e pô-lo em palavras tê-los-ia envergonhado. Tratava Martha e Sarah como um patriarca benevolente, mas em segredo confessara a Lillian que não gostava das filhas, pareciam-lhe mesquinhas. Lillian também não gostava demasiado delas, mas não o admitia por motivo algum. Isaac festejava os netos de longe. «Vamos esperar que cresçam um pouco, ainda não são pessoas», dizia em tom de brincadeira, em jeito de desculpa, embora no fundo o sentisse exatamente assim. No entanto, tivera sempre um fraquinho por Alma.
Quando a sobrinha chegou da Polônia para viver em Sea Cliff em 1939, Isaac passou a ter-lhe tanto carinho que mais tarde chegou a sentir uma alegria culpada por os pais dela terem desaparecido, porque isso lhe dava a possibilidade de os poder substituir no coração da rapariguinha.
Não pretendeu formá-la, como aos seus filhos, apenas protegê-la, e isso deu-lhe a liberdade de amá-la. Deixou a Lillian a tarefa de responder às suas necessidades de rapariga, enquanto ele se divertia a desafiá-la intelectualmente e a partilhar com ela as suas paixões pela botânica e pela geografia. Precisamente num dia em que estava a mostrar a Alma os seus livros sobre jardins, surgiu-lhe a ideia de criar a Fundação Belasco. Passaram meses a ponderar em conjunto as diferentes possibilidades, antes de a ideia se concretizar, e foi a rapariga, que na altura tinha treze anos, que se lembrou de plantar jardins nos bairros mais pobres da cidade. Isaac admirava-a; observava fascinado a evolução do seu raciocínio, compreendia a sua solidão e ficava sensibilizado quando ela se aproximava à procura de companhia. A rapariga sentava-se ao lado dele, com uma mão em cima do seu joelho, a ver televisão ou a estudar livros de jardinagem, e o peso do calor daquela pequena mão era uma prenda preciosa para ele. Por seu lado, Isaac acariciava-lhe a cabeça quando ela passava ao lado dele, sempre que não havia ninguém por perto, e comprava-lhe guloseimas para lhe pôr debaixo da almofada. A jovem mulher que regressou de Boston, com melena de corte geométrico, lábios vermelhos e andar confiante, não era a Alma tímida de antes, que dormia abraçada ao gato porque tinha medo de dormir sozinha, mas, depois de superada a estranheza mútua, recuperaram a delicada relação partilhada por mais de uma década.
— Lembras-te dos Fukuda? — perguntou Isaac à sobrinha, passados alguns dias.
— Claro que me lembro! — exclamou Alma, sobressaltada.
— Ontem ligou-me um dos filhos.
— Ichimei?
— Sim. O mais novo, não é? Perguntou-me se podia vir visitar-me, tem de falar comigo. Estão a viver no Arizona.
— Tio, Ichimei é meu amigo e não o vejo desde que internaram a família. Posso assistir a esse encontro, por favor?
— Deu-me a entender que se tratava de um assunto privado.
— Quando é que ele vem?
— Eu aviso-te, Alma.
Quinze dias mais tarde, Ichimei apareceu na casa de Sea Cliff, com um fato vulgar e gravata preta. Alma estava à espera com o coração aos saltos e antes de ele ter tempo de tocar à campainha abriu a porta e atirou-se para os seus braços. Continuava a ser mais alta do que ele e quase o atirou ao chão com o susto. Ichimei, perplexo, porque ficou surpreendido por a ver e porque as demonstrações de afeto em público são mal vistas pelos japoneses, não soube como responder a tanta efusividade, mas ela não lhe deu tempo de pensar nisso; pegou-lhe na mão e arrastou-o para o interior da casa, repetindo o nome dele, com os olhos úmidos, e logo que atravessaram a entrada beijou-o ao de leve na boca. Isaac Belasco estava na biblioteca, no seu cadeirão preferido, com Neko, o gato de Ichimei, que já tinha dezasseis anos, nos joelhos. Conseguia observar a cena e, comovido, escondeu-se atrás do jornal, até que finalmente Alma conduziu Ichimei à sua presença. A jovem deixou-os a sós e fechou a porta.
Ichimei contou a Isaac Belasco em poucas palavras o que acontecera à sua família, e que este já sabia, porque desde a chamada telefônica investigara tudo o que conseguira sobre os Fukuda. Não só sabia do fim de Takao e de Charles, da deportação de James e da pobreza em que se encontravam a viúva e os filhos, como tomara também algumas providências a esse respeito. A única novidade que lhe deu Ichimei foi a mensagem de Takao relativamente à espada.
— Lamento muito o falecimento de Takao. Foi meu amigo e mestre. Lamento também o que aconteceu a Charles e a James. Ninguém tocou no sítio onde está a katana da tua família, Ichimei. Podes levá-la quando quiseres, no entanto foi enterrada com uma cerimônia e creio que o teu pai gostaria que fosse desenterrada com a mesma solenidade.
— Tem razão, senhor. Por agora não tenho onde a colocar. Posso deixá-la aqui? Não será por muito mais tempo, espero eu.
— Essa espada honra esta casa, Ichimei. Tens pressa para a retirar?
— O lugar dela é no altar dos meus antepassados, mas de momento não temos casa nem altar. A minha mãe, a minha irmã e eu vivemos numa pensão.
— Quantos anos tens, Ichimei?
— Vinte e dois.
— És maior de idade, o chefe da tua família. Tu deves tomar conta do negócio que tive com o teu pai.
Isaac Belasco tratou de explicar ao estupefacto Ichimei que em 1941 formara uma sociedade com Takao Fukuda para a criação de um viveiro de flores e plantas decorativas. A guerra impedira a sociedade de começar a andar, mas nenhum dos dois pusera fim ao compromisso de palavra que tinham feito, de modo que continuava de pé. Existia um terreno apropriado em Martínez, a este da baía de São Francisco, que ele tinha comprado por um bom preço. Eram dois hectares de terreno plano, fértil e com água abundante, com uma casa modesta, mas decente, onde os Fukuda poderiam viver até arranjarem algo melhor. Ichimei teria de trabalhar arduamente para fazer progredir o negócio, tal como fora acordado com Takao.
— Já temos a terra, Ichimei. Vou fazer um investimento de capital inicial para preparar o terreno e plantar, o resto cabe-te a ti.
Com as vendas vais pagando a tua parte, de acordo com as tuas possibilidades, sem pressa nem juros. Quando chegar o momento, passamos a sociedade para o teu nome. Por agora o terreno pertence à Sociedade Belasco, Fukuda e Filhos.
Não lhe disse que a sociedade e a compra do terreno se tinham tornado efetivas há menos de uma semana. Isso iria Ichimei descobrir quatro anos mais tarde, quando foi transferir o negócio para o nome dele.
Os Fukuda regressaram à Califórnia e instalaram-se em Martínez, a quarenta e cinco minutos de São Francisco. Ichimei, Megumi e Heideko, trabalhando de sol a sol, conseguiram a primeira colheita de flores. Verificaram que a terra e o clima eram os melhores que se podiam desejar, faltava apenas colocar o produto no mercado. Heideko demonstrara ter mais audácia e recursos que qualquer outro membro da família. Em Topaz desenvolveu o espírito combativo e de organização; no Arizona responsabilizou-se pela família, porque Takao quase não conseguia respirar entre cigarros e ataques de tosse. Amara o marido com a feroz lealdade de quem não questiona o seu destino de esposa, mas enviuvar foi para ela uma libertação. Quando regressou com os filhos à Califórnia e se deparou com dois hectares de possibilidades, ficou à frente da empresa sem hesitar. A princípio Megumi teve de lhe obedecer e pegar na pá e no ancinho para trabalhar no campo, mas tinha a mente posta num futuro muito distante da agricultura. Ichimei adorava a botânica e possuía uma vontade férrea para o trabalho pesado, mas faltava-lhe o sentido prático e olho para o negócio. Era idealista, sonhador, inclinado para o desenho e a poesia, com mais vocação para a meditação do que para o comércio. Só foi vender a sua espetacular colheita de flores a São Francisco quando a mãe o mandou limpar a terra das unhas, vestir um fato, camisa branca e gravata de cor — nada de luto —, carregar a camioneta e ir à cidade.
Megumi fizera uma lista das floristas mais elegantes e Heideko, com ela na mão, visitou-as uma a uma. Ela ficava no veículo, porque era consciente do seu aspeto de camponesa japonesa e do seu péssimo inglês, enquanto Ichimei, vermelho até às orelhas com vergonha, oferecia a sua mercadoria. Sentia-se pouco à vontade com as questões relacionadas com dinheiro. De acordo com Megumi, o irmão não fora feito para viver na América, era discreto, austero, passivo e humilde; se dependesse dele, andaria vestido com uma tanga e a mendigar comida com uma malga, como os santarrões e profetas da índia.
Nessa noite Heideko e Ichimei regressaram de São Francisco com a carrinha vazia.
«É primeira e a última vez que te acompanho, filho. És o responsável por esta família. Não podemos comer flores, tens de aprender a vendê-las», disse-lhe Heideko. Ichimei tentou passar esse papel à irmã, porém Megumi já estava com um pé fora da porta. Aperceberam-se do quão fácil era obter um bom preço pelas flores e calcularam que poderiam pagar a terra em quatro ou cinco anos, se vivessem sempre com o indispensável e não acontecesse nenhuma desgraça. Além disso, depois de ver a colheita, Isaac Belasco prometera-lhes que conseguiria um contrato com o hotel Fairmont para a manutenção dos espetaculares ramos de flores frescas do hall de recepção e dos salões, que davam fama ao estabelecimento.
Por fim a família começava a ascender, depois de treze anos de azar; então Megumi comunicou que completara trinta anos e agora chegara o momento de iniciar o seu próprio caminho. Ao longo desses anos Boyd Anderson casara e divorciara-se, era pai de duas crianças e voltara a suplicar a Megumi que fosse para o Havaí, onde ele prosperava com a sua oficina mecânica e uma frota de camiões. «Esquece o Havaí, se queres ficar comigo terá de ser em São Francisco», respondeu-lhe ela.
Decidira estudar enfermagem. Em Topaz assistira a vários partos e cada vez que recebia uma criança recém-nascida experimentava uma sensação de êxtase, o mais parecido a uma revelação divina que conseguia imaginar. Desde há pouco tempo que aquela competência da obstetrícia, dominada por médicos e cirurgiões, começava a ser incumbida a parteiras e ela queria estar na vanguarda da profissão. Aceitaram-na num programa de enfermagem e saúde feminina, que tinha a vantagem de ser gratuito. Durante os três anos que se seguiram, Boyd Anderson continuou a cortejá-la com parcimônia à distância, convencido de que assim que ela obtivesse o diploma, casaria com ele e iria viver para o Havaí.
27 de novembro de 2005
“Parece mentira, Alma: Megumi decidiu reformar-se. Foi tão difícil para ela conseguir o diploma e ama tanto a sua profissão que pensamos que nunca iria retirar-se. Calculamos que em quarenta anos trouxe ao mundo umas cinco mil e quinhentas crianças. É o seu contributo para a explosão demográfica, como diz. Fez oitenta anos, é viúva há uma década e tem cinco netos, chegou a hora de descansar, mas meteu na cabeça criar um negócio de comida. Na família ninguém consegue compreender, porque a minha irmã é incapaz de fritar um ovo. Tenho tido algumas horas livres para pintar. Desta vez não vou recriar a paisagem de Topaz, como tantas outras vezes. Estou a pintar um caminho nas montanhas a sul do Japão, próximo de um templo muito antigo e isolado. Temos de regressar juntos ao Japão, gostava de te mostrar esse templo.”
Ichi
O amor
O ano de 1955 não foi apenas de trabalho e suor para Ichimei. Foi também o ano dos seus amores. Alma desistiu do projeto de regressar a Boston, de se converter numa segunda Vera Neumann e de viajar pelo mundo. O seu único propósito na vida era estar com Ichimei. Encontravam-se quase todos os dias ao anoitecer, quando terminavam as tarefas do campo, num motel de beira da estrada a nove quilômetros de Martínez. Alma chegava sempre primeiro e pagava o quarto a um empregado paquistanês, que a mirava dos pés à cabeça com profundo desprezo. Ela olhava-o nos olhos, orgulhosa e insolente, até que o homem baixava o olhar e lhe entregava a chave. A mesma cena repetia-se de segunda a sexta-feira.
Em casa, Alma informou que estava a frequentar aulas noturnas na Universidade de Berkeley. Para Isaac Belasco, que se gabava de ter ideias progressistas e que podia fazer negócio ou cultivar amizade com o seu jardineiro, seria inaceitável que alguém da sua família mantivesse relações íntimas com um dos Fukuda. Quanto a Lillian, Alma iria casar-se com um mensch da colônia judaica, tal como acontecera com Martha e Sarah, e sobre isso não havia discussão. O único que conhecia o segredo de Alma era Nathaniel e também não o aprovava. Alma não lhe falara do hotel e ele não lho tinha perguntado, porque preferia não saber dos pormenores.
Não podia continuar a desvalorizar Ichimei como uma veleidade da prima, da qual se curaria assim que voltasse a vê-lo; esperava que Alma acabasse por compreender que não tinham nada a ver um com o outro. Não se lembrava da relação que ele próprio tivera com Ichimei na infância, exceto aulas de artes marciais na rua Pine. Desde que entrara para o ensino secundário e tinham acabado as obras teatrais no sótão, vira-o muito poucas vezes, embora Ichimei fosse frequentemente a Sea Cliff para brincar com Alma. Quando os Fukuda regressaram a São Francisco estivera com ele em duas breves ocasiões, quando o pai o incumbira de lhe ir entregar dinheiro para o viveiro. Não conseguia perceber que raio a prima via nele: era um tipo sensaborão, passava sem deixar marca, o oposto de um homem forte e seguro de si mesmo, que poderia controlar uma mulher tão complicada como Alma. Tinha a certeza de que a sua opinião sobre Ichimei seria a mesma se ele não fosse japonês; a raça não tinha nada a ver, era uma questão de carácter. A Ichimei faltava aquela dose de ambição e agressividade necessárias aos homens e que ele próprio tivera de desenvolver com perseverança. Lembrava-se muito bem dos seus anos de medo, do tormento na escola e do esforço descomunal para estudar uma profissão que exigia uma malícia que ele não possuía. Estava grato ao pai por tê-lo induzido a seguir os passos dele, pois como advogado ganhara calo, adquirira pele de crocodilo para contar consigo mesmo e seguir em frente. «Isso é o que tu pensas, Nat, mas não conheces Ichimei e tão-pouco te conheces a ti mesmo», respondia-lhe Alma, quando ele lhe expunha a sua teoria sobre a masculinidade.
A recordação dos meses felizes em que se encontrava com Ichimei naquele motel, onde não se podiam apagar as luzes por causa das baratas noturnas que saíam dos cantos, sustentaram Alma nos anos vindouros, quando tentou arrancar de dentro de si o amor e o desejo com um rigor extremo e substituí-los pela penitência da fidelidade.
Com Ichimei descobriu as múltiplas subtilezas do amor e do prazer, desde a paixão desenfreada e urgente até aos momentos sagrados em que a emoção os deixava em suspenso e ficavam imóveis, estendidos frente a frente na cama, olhando-se olhos nos olhos demoradamente, gratos pela sua sorte, humildes por terem tocado no mais fundo da alma, purificados por se terem desprendido de tudo o que era artificial e por jazerem juntos totalmente vulneráveis, num tal êxtase que não conseguiam distinguir entre o prazer e a tristeza, entre a exaltação da vida e a doce tentação de morrer ali mesmo para não se separarem nunca mais. Isolada do mundo pela magia do amor, Alma podia ignorar as vozes interiores que a chamavam à realidade e lhe exigiam prudência, advertindo-a das consequências. Viviam apenas para o encontro do dia, não existia amanhã nem ontem, a única coisa que importava era aquele quarto insalubre com a janela encravada, o cheiro a mofo, os lençóis gastos e o ruído permanente da ventilação. Apenas existiam eles os dois, o primeiro beijo sôfrego ao cruzar a soleira, antes de fecharem a porta à chave, as carícias de pé, o despojar-se da roupa, que ficava espalhada onde caísse, os corpos nus, trémulos, sentir o calor, o sabor e o cheiro do outro, a textura da pele e do cabelo, a sensação maravilhosa de se perderem no desejo até à exaustão, de dormitarem abraçados por um momento e de voltarem ao prazer renascido, às brincadeiras, aos risos e às confidências, ao extraordinário universo da intimidade. Os dedos verdes de Ichimei, capazes de devolver a vida a uma planta agonizante ou de arranjar um relógio às escuras, revelaram a Alma a sua própria natureza irreverente e sequiosa. Divertia-se a surpreendê-lo, a desafiá-lo, a vê-lo corar envergonhado e divertido. Ela era atrevida e ele era prudente, ela era ruidosa no orgasmo, ele tapava-lhe a boca.
A ela ocorria-lhe um rosário de palavras românticas, apaixonadas, encantadoras ou lascivas para lhe soprar ao ouvido ou para lhe escrever em urgentes missivas; ele mantinha a reserva própria do seu carácter e da sua cultura.
Alma abandonou-se à alegria inconsciente do amor. Perguntava a si própria como é que ninguém notava o esplendor da sua pele, a profundidade sem fim dos seus olhos, a leveza dos seus passos, a languidez da sua voz, a ardente energia que não podia nem queria controlar. Nessa época escreveu no diário que andava a flutuar e sentia borbulhas de água mineral na sua pele, tinha os pelos eriçados de prazer; que o coração tinha expandido como um balão e ia rebentar, mas nesse imenso coração inflado não cabia mais ninguém além de Ichimei, o resto da humanidade tinha-se esfumado; que se observa ao espelho nua imaginando que era Ichimei que a observava do outro lado do vidro, admirando as suas pernas longas, as suas mãos fortes, os seus seios firmes de bicos escuros, o seu ventre liso com uma ténue linha de pelos negros do umbigo até à púbis, os seus lábios pintados, a sua pele de beduína; que dormia com o rosto enfiado numa camisa dele, impregnada do seu aroma a jardineiro, húmus e suor; que tapava os ouvidos para evocar a voz lenta e suave de Ichimei, o seu riso hesitante que contrastava com o dela, exagerado e escandaloso, os seus conselhos de cautela, as suas explicações sobre plantas, as suas palavras de amor em japonês, porque em inglês lhe pareciam sem sentido, as suas exclamações de deslumbramento diante dos desenhos que ela lhe mostrava e diante dos seus planos para imitar Vera Neumann, sem se deter por um instante a lamentar que ele próprio, que tinha um verdadeiro talento, só pudesse pintar quando conseguia algumas horas livres depois do seu trabalho árduo na terra, antes de ela aparecer na sua vida ocupando-lhe todo o tempo livre e consumindo todo o seu ar. A necessidade de Alma de se saber amada era insaciável.
Marcas do passado
No princípio, Alma Belasco e Lenny Beal, o amigo recém-chegado à Lark House, decidiram aproveitar a vida cultural de São Francisco e Berkeley. Iam ao cinema, ao teatro, a concertos e exposições, experimentavam restaurantes exóticos e passeavam com a cadela. Pela primeira vez em três anos, Alma voltou ao camarote da família na ópera, mas o amigo baralhou-se com a confusão do primeiro ato e adormeceu durante o segundo, antes de Tosca conseguir cravar uma faca de mesa no coração de Scarpia. Desistiram da ópera. Lenny tinha um automóvel mais confortável do que o de Alma e costumavam ir a Napa apreciar a bucólica paisagem de vinhedos e provar vinhos, ou então iam a Bolinas respirar o ar salgado e comer ostras, mas ao fim de um tempo cansaram-se do esforço de se manterem jovens e ativos por força de vontade e foram sucumbindo à tentação de repouso. Em vez de tantas saídas, que exigiam que viajassem, procurassem estacionamento e permanecessem de pé, viam filmes na televisão, ouviam música nos seus apartamentos ou visitavam Cathy com uma garrafa de champanhe rose para acompanhar o caviar cinzento, que a filha de Cathy, hospedeira de voo da Lufthansa, trazia das suas viagens. Lenny colaborava na clínica da dor ensinando os pacientes a fazer máscaras para o teatro de Alma com papel molhado e cimento dentário.
Passavam tardes a ler na biblioteca, a única área comum mais ou menos silenciosa; o ruído era um dos inconvenientes de viver em comunidade. Quando não havia alternativa, jantavam na cantina da Lark House, sob o olhar atento das outras mulheres, invejosas da sorte de Alma. Irina sentia-se posta de parte, embora às vezes fosse incluída nas saídas deles; já não era indispensável para Alma. «Isso são ideias tuas, Irina. Lenny não te substitui de maneira nenhuma», consolava-a Seth, mas estava também preocupado, porque se a avó reduzia o número de horas semanais a Irina, ele teria menos oportunidades de a ver.
Naquela tarde, Alma e Lenny estavam sentados no jardim a evocar o passado, como faziam muitas vezes, enquanto a pouca distância Irina com uma mangueira dava banho a Sofia. Alguns anos antes, Lenny encontrara na internet uma organização dedicada a resgatar cães da Romênia, onde vagueavam pelas ruas em patéticas matilhas, trazendo-os para São Francisco para os oferecer em adoção a almas propensas a esse tipo de caridade. O focinho de Sofia, com a sua mancha preta no olho, cativou-o e sem pensar mais nisso preencheu o formulário on-line, enviou os cinco dólares solicitados e no dia seguinte foi buscá-la. Na descrição tinham-se esquecido de referir que a cadela não tinha uma pata. Com as patas restantes fazia uma vida normal, a única sequela do acidente era que destroçava uma das extremidades de qualquer coisa que tivesse quatro, como cadeiras ou mesas, mas Lenny solucionava o problema com uma reserva inesgotável de bonecos de plástico; assim que a cadela deixava um coxo, Lenny dava-lhe outro e assim a questão estava resolvida. A única debilidade de carácter da cadela era a deslealdade ao amo. Ficou encantada com Catherine Hope e à menor distração corria como uma bala à sua procura e saltava para o seu regaço. Gostava de andar de cadeira de rodas.
Sofia ficava quieta debaixo do esguicho da mangueira, enquanto Irina falava com ela em romeno para disfarçar e prestava atenção à conversa de Alma com Lenny, com a intenção de a transmitir a Seth. Sentia-se mal por andar a espiá-los, mas investigar o mistério daquela mulher convertera-se num vício que partilhava com Seth. Sabia, porque Alma lho contara, que a amizade dela com Lenny tinha nascido em 1984, no ano em que morrera Nathaniel Belasco, e durou apenas uns meses, mas as circunstâncias tornaram- na tão intensa que, quando se reencontraram na Lark House, puderam retomá-la como se nunca se tivessem afastado. Nesse momento, Alma explicava a Lenny que aos setenta e oito anos renunciara ao papel de matriarca dos Belasco, cansada de fazer a vontade às pessoas e de agir de acordo com as normas, como sempre fizera desde pequena. Estava há três anos na Lark House e cada vez gostava mais de lá estar. Impusera-se a si própria aquela mudança como uma penitência, disse, como uma forma de pagar pelos privilégios que a vida lhe proporcionara, por causa da vaidade e do materialismo. O ideal teria sido passar o resto dos seus dias num mosteiro zen, mas não era vegetariana e a meditação provocava-lhe dores de costas, por isso decidira-se pela Lark House, perante o horror do filho e da nora, que teriam preferido vê-la de cabeça rapada em Dharamsala. Na Lark House sentia-se bem, não renunciara a nada de essencial e, caso fosse necessário, estava a trinta minutos de Sea Cliff, embora não pretendesse regressar à casa familiar — que nunca tinha sentido como sua, pois primeiro pertencera aos sogros e depois ao seu filho e à sua nora — exceto para os almoços de família. No princípio não falava com ninguém na Lark House; era como estar sozinha num hotel de segunda categoria, mas com o tempo fizera algumas amizades e, desde que Lenny chegara, sentia-se muito acompanhada.
— Podias ter escolhido algo melhor do que isto, Alma.
— Não preciso de mais. A única coisa que me faz falta é uma lareira no inverno. Gosto de olhar para o fogo, parece a ondulação do mar.
— Conheço uma viúva que passou os últimos seis anos em cruzeiros. Assim que o barco atraca na sua última escala a família dá-lhe um bilhete para outra volta ao mundo.
— Como é que o meu filho e a minha nora não se lembraram dessa ideia? — riu-se ela.
— Tem a vantagem de que, se alguém morrer no alto-mar, o capitão deita o cadáver pela borda fora e a família não tem despesas com o enterro — acrescentou Lenny.
— Aqui estou bem, Lenny. Estou a descobrir quem sou despojada dos meus atavios e amarras; é um processo bastante lento, mas muito útil. Toda a gente deveria fazer isto no fim da vida. Se fosse uma pessoa disciplinada, tentaria passar a perna ao meu neto e escreveria as minhas próprias memórias. Tenho tempo disponível, liberdade e silêncio, aquilo que nunca tive no bulício da minha vida anterior. Estou a preparar-me para morrer.
— Ainda te falta muito para isso, Alma. Estás fantástica.
— Obrigada. Deve ser o efeito do amor.
— Amor?
— Digamos que tenho uma pessoa. Tu sabes a quem me refiro: Ichimei.
— Incrível! Há quantos anos estão juntos?
— Ora bem, deixa-me fazer as contas... Amo-o desde que tínhamos ambos uns oito anos, mas como amantes estamos juntos há cinquenta e oito, desde 1955, com alguns interregnos prolongados.
— Porque casaste com Nathaniel? — perguntou Lenny.
— Porque ele quis proteger-me e nesse momento eu precisava da sua proteção. Lembra-te de que era uma alma nobre. Nat ajudou-me a aceitar o facto de que existem razões mais poderosas do que a minha vontade, razões mesmo mais poderosas do que o amor.
— Gostava de conhecer Ichimei, Alma. Avisa-me quando ele vier visitar-te.
— O nosso amor ainda é secreto — respondeu ela, corando.
— Porquê? A tua família não ia compreender?
— Não é por causa dos Belasco, mas por causa da família de Ichimei. Por respeito à mulher dele, aos filhos e aos netos.
— Depois de tantos anos, a mulher dele sabe de certeza, Alma.
— Nunca fez nenhum comentário sobre isso. Não quero fazê-la sofrer; Ichimei nunca me perdoaria. Além do mais, isto tem as suas vantagens.
— Quais?
— Para começar, nunca tivemos de lidar com problemas domésticos, de filhos, de dinheiro e muitos outros com que se deparam os casais. Apenas nos encontramos para amar. Além disso, Lenny, uma relação clandestina tem de ser cuidada, é delicada e preciosa. Tu sabes isso melhor do que ninguém.
— Nascemos os dois com meio século de atraso, Alma. Somos especialistas em relações proibidas.
— Ichimei e eu tivemos uma oportunidade quando éramos muito jovens, mas eu não tive coragem. Não podia renunciar à segurança e fiquei presa às convenções. Eram os anos cinquenta, o mundo era muito diferente. Lembras-te?
— Como poderia esquecer? Uma relação assim era quase impossível, ter-te-ias arrependido, Alma. Os preconceitos acabariam por vos destruir e por matar o vosso amor.
— Ichimei sabia-o e nunca me pediu que o fizesse.
Ao fim de uma longa pausa em que permaneceram absortos a contemplar o afã dos colibris no canteiro de brincos-de-princesa, enquanto Irina se demorava propositadamente a secar Sofia com uma toalha e a escová-la, Lenny disse a Alma que lamentava não a ter visto durante quase três décadas.
— Soube que estavas a viver na Lark House. É uma coincidência que me obriga a acreditar no destino, Alma, porque eu inscrevi-me na lista de espera há anos, muito antes de tu vires para cá. Fui adiando a decisão de te visitar porque não queria desenterrar histórias passadas — disse.
— Não estão enterradas, Lenny. Estão mais vivas do que nunca. Isso acontece com a idade: as histórias do passado adquirem vida e colam-se à nossa pele. Fico contente que possamos passar juntos os próximos anos.
— Não serão anos, apenas meses, Alma. Tenho um tumor cerebral inoperável, tenho pouco tempo antes de aparecerem os sintomas mais evidentes.
— Meu Deus, sinto muito, Lenny!
— Porquê? Já vivi o suficiente, Alma. Com tratamento agressivo podia durar um pouco mais, mas não vale a pena uma pessoa submeter-se a isso. Sou cobarde, tenho medo do sofrimento.
— Estou surpreendida por te terem aceitado na Lark House.
— Ninguém sabe o que tenho e não há nenhuma razão para o divulgar, porque não vou ocupar aqui um lugar por muito tempo. Vou despachar-me logo que as minhas condições se agravarem.
— Como vais saber isso?
— Por agora sinto dores de cabeça, alguma fraqueza e entorpecimento. Já não me atrevo a andar de bicicleta, que era a minha paixão, porque caí várias vezes. Sabes que atravessei três vezes os Estados Unidos do Pacífico até ao Atlântico de bicicleta? Tenho intenções de aproveitar o tempo que me resta. Depois virão os vômitos, a dificuldade em caminhar e em falar, perderei a visão, terei convulsões... mas não vou esperar tanto. Tenho de agir enquanto tiver a mente sã.
— A vida passa tão depressa, Lenny!
Irina não ficou surpreendida com as palavras de Lenny. A morte voluntária era discutida com naturalidade entre os residentes mais lúcidos da Lark House.
De acordo com Alma, existiam demasiados anciãos no planeta que viviam muito mais do que o necessário para a biologia e do que o possível para a economia, não fazia sentido obrigá-los a permanecer presos num corpo dolorido ou numa mente desesperada. «Poucos idosos estão contentes, Irina. A maioria passa dificuldades, não tem boa saúde nem família. Esta é a etapa mais frágil e difícil da vida, mais do que a infância, porque piora com o passar dos dias e não tem outro futuro senão a morte.» Irina comentara-o com Cathy, que afirmava que dentro de pouco tempo seria possível optar pela eutanásia, seria um direito e não um crime. Constara a Cathy que várias pessoas da Lark House estavam preparadas com o necessário para uma saída digna e, embora compreendesse as razões para se tomar essa decisão, ela não pretendia partir dessa forma. «Vivo com dores permanentes, Irina; mas se me distraio, são suportáveis. O pior foi a reabilitação depois das operações. Nem a morfina mitigava a dor, a única coisa que me ajudava era saber que não iria durar para sempre. Tudo é temporário.» Irina imaginava que Lenny, devido à sua profissão, possuía drogas mais eficazes do que as que vinham da Tailândia, embrulhadas em papel pardo e sem identificação.
— Sinto-me tranquilo, Alma — continuava Lenny. — Aproveito a vida, especialmente o tempo que tu e eu passamos juntos. Estou a preparar-me há muito tempo, isto não me apanhou desprevenido. Aprendi a prestar atenção ao corpo. O corpo informa-nos de tudo, é uma questão de estarmos atentos. Já sabia da minha doença antes de ma diagnosticarem e sei que qualquer tratamento seria inútil.
— Tens medo? — perguntou Alma.
— Não. Suponho que depois da morte será igual a antes de nascer. E tu?
— Um pouco... Imagino que depois da morte não há contacto com este mundo, não há sofrimento, personalidade, memória, será como se esta Alma Belasco nunca tivesse existido.
Talvez algo transcenda: o espírito, a essência do ser. Mas confesso-te que tenho medo de me desprender do corpo, espero que nesse momento Ichimei esteja comigo ou que Nathaniel venha buscar-me.
— Se o espírito não tem contacto com este mundo, como disseste, não sei como poderá Nathaniel vir buscar-te — comentou ele.
— Tens razão. É uma contradição — riu-se Alma. — Estamos tão agarrados à vida, Lenny! Dizes que és cobarde, mas é necessária muita coragem para nos despedirmos de tudo e atravessarmos um limiar que não sabemos onde nos conduz.
— Por isso vim para aqui, Alma. Acho que não consigo fazê-lo sozinho. Pensei que tu serias a única pessoa que me podia ajudar, a única a quem posso pedir que esteja comigo quando chegar o momento de morrer. Estou a pedir-te demasiado?
22 de outubro de 2002
“Ontem, Alma, quando finalmente pudemos encontrar-nos para festejarmos os nossos aniversários, percebi que estavas mal-humorada. Disseste que de repente, sem saber como, tínhamos chegado aos setenta anos. Tens medo que o nosso corpo falhe e disso a que chamas a fealdade da velhice, embora sejas mais bela agora que quando tinhas vinte e três anos. Não estamos velhos por termos feito setenta anos. Começamos a envelhecer no instante em que nascemos, mudamos dia a dia, a vida é um constante fluir. Evoluímos. A única coisa diferente é que agora estamos um pouco mais próximos da morte. E que mal há nisso? O amor e a amizade não envelhecem.”
Ichi
Luz e sombra
O exercício sistemático de relembrar para o livro do neto foi proveitoso para Alma Belasco, cuja mente estava ameaçada pela fragilidade da idade. Antes disso, perdia-se por labirintos quando queria resgatar algum facto específico, não conseguia encontrá-lo, mas para dar a Seth respostas satisfatórias empenhou-se em reconstruir o passado com alguma ordem, em vez de o fazer com saltos e cabriolas, como fazia com Lenny Beal no tempo de lazer da Lark House. Visualizava caixas de diferentes cores, uma por cada ano da sua existência, e dentro colocava as suas experiências e sentimentos. Amontoava as caixas no grande armário de três corpos, onde chorava copiosamente aos sete anos na casa dos tios. As caixas virtuais transbordavam de saudades e alguns remorsos; ali estavam bem guardados os terrores, as fantasias de infância, a insolência da juventude, as perdas, dificuldades, paixões e amores da idade madura. Sem ser demasiado intransigente, porque tentava perdoar todos os seus erros, menos aqueles que provocavam sofrimento a outras pessoas, colava os fragmentos da sua biografia e temperava-os com toques de fantasia, permitindo-se incluir exageros e falsidades, já que Seth não podia refutar o conteúdo da sua memória. Fazia-o mais como um exercício de imaginação do que por necessidade de mentir. Guardava, no entanto, Ichimei só para si, sem imaginar que nas suas costas Irina e Seth estavam a investigar sobre o mais precioso e secreto da sua existência, a única coisa que não podia revelar, porque, se o fizesse, Ichimei desapareceria e nesse caso não haveria razão para continuar a viver.
Irina era o seu copiloto nessa viagem ao passado. As fotografias e outros documentos passavam pelas mãos dela, era ela quem os classificava, era ela que ia fazendo os álbuns. As perguntas dela ajudavam Alma a retomar o caminho quando se distraía em becos sem saída; assim foi revelando e expondo a sua vida. Irina mergulhou na existência de Alma como se estivessem juntas num romance vitoriano: a senhora de linhagem e a sua dama de companhia presas no tédio das eternas chávenas de chá no campo. Alma afirmava que todas as pessoas possuíam um jardim interior para se refugiarem, mas Irina não desejava entrar no seu; preferia substituí-lo pelo de Alma, mais agradável. Conhecia a menina melancólica chegada da Polônia, a jovem Alma de Boston, a artista e esposa, conhecia os seus vestidos e chapéus preferidos, o primeiro atelier de pintura, onde trabalhava sozinha fazendo experiências com pincéis e cores antes de definir o seu estilo, as suas antigas malas de viagem, de couro gasto e cobertas com autocolantes, que ninguém usava. Essas imagens e experiências eram nítidas, precisas, como se ela tivesse vivido naquelas épocas e tivesse estado com Alma em todos aqueles lugares. Parecia-lhe maravilhoso que o poder das palavras ou de uma fotografia bastasse para as tornar reais e para que ela se pudesse apropriar delas.
Alma Belasco fora uma mulher enérgica, ativa, tão intolerante com as suas fraquezas como com as dos outros; mas os anos tinham-na suavizado; era mais paciente com o próximo e consigo mesma. «Se não me doer nada, é porque estou morta», dizia ao acordar, quando era obrigada a esticar os músculos para evitar as cãibras: o corpo dela já não funcionava como antes, tinha de recorrer a estratégias para evitar escadas ou adivinhar o sentido de uma frase quando não a ouvia; tudo lhe exigia mais esforço e tempo, havia coisas que simplesmente não podia fazer, como conduzir de noite, meter gasolina no carro, abrir uma garrafa de água, carregar com os sacos do mercado.
Para essas coisas precisava de Irina. A sua mente, pelo contrário, estava lúcida, recordava tão bem o presente como o passado, desde que não caísse na tentação da desordem; não lhe faltava a atenção nem o raciocínio. Conseguia ainda desenhar e possuía a mesma intuição para as cores; ia ao atelier, mas pintava pouco, porque se cansava, preferia delegar em Kirsten e nos ajudantes. Não falava das suas limitações, enfrentava-as sem alarido, mas Irina conhecia-as. Sentia repugnância pelo fascínio dos idosos com as suas doenças e achaques, um assunto que não interessava a ninguém, nem sequer aos médicos. «A crença muito enraizada, que ninguém se atreve a expressar em público, é que os idosos estão a mais, ocupam espaço e recursos que pertencem às pessoas jovens e produtivas», dizia. Não reconhecia muitas das pessoas das fotos, gente irrelevante do seu passado que se podia eliminar. Nas outras, as que Irina colava nos álbuns, podia apreciar as etapas da sua vida, o passar dos anos, aniversários, festas, férias, graduações e casamentos. Eram momentos felizes, ninguém fotografa as tristezas. Ela aparecia pouco, mas no início do outono Irina pôde avaliar melhor a mulher que Alma fora através dos retratos que lhe fizera Nathaniel; pertenciam ao patrimônio da Fundação Belasco e foram descobertos pelo meio artístico de São Francisco. Por causa desses retratos, um jornal apelidou Alma como «a mulher mais bem fotografada da cidade».
No Natal do ano anterior, uma editora italiana publicara uma seleção de fotografias de Nathaniel Belasco numa edição de luxo; meses mais tarde, um agente astuto organizou uma exposição em Nova Iorque e outra na mais prestigiada galeria de arte da rua Geary, em São Francisco. Alma recusou-se a participar nesses projetos e a falar com a imprensa.
Preferia ser vista como a modelo de então e não como a anciã do presente, disse, mas confidenciou a Irina que não o fazia por vaidade, mas por prudência. Não tinha forças para rever aquele aspeto do seu passado; temia aquilo, invisível a olho nu, que a câmara pudesse revelar. No entanto, a teimosia de Seth acabou por vencer a sua resistência. O neto visitara várias vezes a galeria e estava impressionado; não ia permitir que Alma perdesse a exposição, parecia-lhe um insulto à memória de Nathaniel Belasco.
— Faça-o pelo avô, que dará a volta no túmulo, se a avó não for. Amanhã venho cá buscá-la. Diga a Irina para nos acompanhar. Vão ter uma surpresa.
Tinha razão. Irina folheara o livro da editora italiana, mas nada a preparara para o impacto daqueles enormes retratos. Seth levou-as no pesado Mercedes Benz da família, porque os três não cabiam no carro de Alma nem na sua moto, a uma hora morta a meio da tarde, quando pensavam encontrar a galeria sem público. Depararam-se apenas com um vagabundo deitado no passeio em frente da porta e um casal de turistas australianos a quem a responsável, uma boneca chinesa de porcelana, tentava vender qualquer coisa, quase sem reparar nos recém-chegados.
Nathaniel Belasco fotografou a sua mulher entre 1977 e 1983 com uma das primeiras câmaras Polaroid 20x24, capaz de captar pormenores ínfimos com uma precisão contundente. Belasco não se encontrava entre os célebres fotógrafos profissionais da sua geração, ele próprio se definia como amador, mas era dos poucos com recursos suficientes para custear a câmara fotográfica. Além disso, tinha uma modelo excecional. A confiança de Alma no marido perturbou Irina; ao ver os retratos sentiu pudor, como se profanasse um ritual íntimo e privado. Entre o artista e a sua modelo não havia uma separação, estavam fundidos num nó cego, e dessa simbiose nasciam fotografias sensuais, embora carecessem de carga sexual.
Em várias poses Alma estava nua e numa atitude de abandono, sem consciência de ser observada. Na atmosfera etérea, fluida e diáfana de algumas imagens, a figura feminina perdia-se no sonho do homem atrás da câmara; noutras, mais realistas, ela estava de frente para Nathaniel com a tranquila curiosidade de uma mulher sozinha em frente ao espelho, confortável na sua pele, sem reservas, com veias visíveis nas pernas, uma cicatriz de cesariana e o rosto marcado por meio século de existência. Irina não teria conseguido expressar a sua própria inquietação, mas compreendeu as reticências de Alma de não se querer mostrar em público através da lente clínica do seu marido, a quem parecia estar unida por um sentimento muito mais complexo e perverso do que o amor de esposos. Nas paredes brancas da galeria, Alma expunha-se agigantada e submissa. Aquela mulher inspirou um certo temor a Irina, era uma desconhecida. Sentiu um nó na garganta e Seth, que talvez partilhasse a sua emoção, pegou-lhe na mão. Dessa vez ela não a retirou.
Os turistas foram embora sem comprar nada e a boneca chinesa dirigiu-se a eles com avidez. Apresentou-se como Meili e começou a aborrecê-los com um discurso preparado sobre a câmara Polaroid, a técnica e a intenção de Nathaniel Belasco, as luzes e sombras, a influência da pintura flamenca, que Alma ouviu divertida, assentindo em silêncio. Meili não relacionou aquela mulher de cabelos brancos com a modelo dos retratos.
Na segunda-feira seguinte, ao terminar o turno na Lark House, Irina foi buscar Alma para a levar ao cinema para ver outra vez o Lincoln. Lenny Beal fora passar uns dias a Santa Bárbara e Irina recuperou temporariamente o seu lugar de adida cultural, como Alma lhe chamava antes de Lenny chegar à Lark House e de este lhe usurpar esse privilégio.
Alguns dias antes tinham deixado o filme a meio, porque Alma sentira uma pontada no peito tão dolorosa que soltou um grito e tiveram de sair da sala. Recusou imediatamente o plano do funcionário da sala, que queria pedir ajuda, porque a perspetiva de uma ambulância e do hospital lhe pareceu pior do que morrer ali mesmo. Irina conduziu-a à Lark House. Desde há algum tempo Alma emprestava-lhe a chave do seu ridículo automóvel para que ela conduzisse, pois Irina recusava-se terminantemente a arriscar a sua vida como passageira; a audácia de Alma com o trânsito ia aumentando à medida que lhe ia faltando a visão e as mãos lhe tremiam. Pelo caminho, a dor foi desaparecendo, mas chegou exausta, com o rosto cinzento e as unhas azuladas. Irina ajudou-a a deitar-se e, sem pedir autorização, chamou Catherine Hope, em quem confiava mais do que no médico oficial da comunidade. Cathy acorreu prontamente na sua cadeira de rodas, examinou-a com toda a sua atenção e cuidado, e determinou que Alma deveria consular um cardiologista o mais brevemente possível. Nessa noite Irina improvisou uma cama no sofá do apartamento, que se revelou mais confortável do que o colchão no chão do seu quarto em Berkeley, e ficou com ela. Alma dormiu tranquilamente, com Neko deitado nos seus pés, mas amanheceu sem ânimo e, pela primeira vez desde que Irina a conhecia, decidiu passar o dia na cama. «Amanhã obrigas- me a levantar-me, Irina. Ouviste? Não me deixes ficar deitada com uma chávena de chá e um bom livro. Não quero acabar a vida de pijama e pantufas. Os velhos que se metem na cama não se voltam a levantar.» Fiel ao que dissera, no dia seguinte esforçou-se por começar o dia como sempre, não voltou a referir-se à debilidade daquelas vinte e quatro horas e rapidamente Irina, que tinha outras coisas em mente, esqueceu o episódio. Catherine Hope, pelo contrário, decidiu não deixar Alma em paz até ela consultar um especialista, mas esta foi arranjando formas de adiá-lo.
Viram o filme sem incidentes e saíram do cinema encantadas com Lincoln, assim como com o ator que fazia aquele papel, mas Alma sentia-se cansada e decidiram regressar ao apartamento em vez de irem a um restaurante, como tinham planeado. Ao chegar, Alma informou entre dois suspiros que tinha frio e deitou-se, enquanto Irina fazia papas de aveia com leite em jeito de ceia. Recostada nas suas almofadas com um xaile de avó pelos ombros, parecia ter cinco quilos menos e dez anos mais do que algumas horas antes. Irina pensava que ela era invulnerável, por isso até àquela noite não se dera conta do quanto Alma tinha mudado nos últimos meses. Perdera peso e no seu rosto desfigurado as olheiras violáceas davam-lhe um aspeto de guaxinim. Já não andava direita nem caminhava de forma decidida, hesitava ao levantar-se de uma cadeira, agarrava no braço de Lenny na rua, às vezes acordava assustada sem razão ou sentia-se perdida, como se estivesse num país desconhecido. Ia tão pouco ao atelier que decidiu despedir os ajudantes e comprava historietas e rebuçados a Kirsten para a compensar pela sua ausência. A segurança emocional de Kirsten dependia das suas rotinas e dos seus afetos; enquanto nada mudasse, sentia-se feliz. Vivia num espaço por cima da garagem do irmão e da cunhada, mimada por três sobrinhos que ajudara a criar. Nos dias de trabalho apanhava sempre ao meio-dia o mesmo autocarro, que a deixava a duzentos e cinquenta metros do atelier. Abria com a chave dela, arejava, limpava, sentava-se na cadeira de diretor de cinema com o nome dela que lhe tinham oferecido os sobrinhos quando fizera quarenta anos, e comia a sandes de frango ou de atum que levava na mochila. Depois preparava os tecidos, os pincéis e as tintas, punha água a ferver para o chá e esperava com os olhos postos na porta. Se Alma decidia não ir, ligava-lhe para o telemóvel, conversavam um bocado e dava-lhe alguma tarefa para a manter ocupada até às cinco, hora em que Kirsten fechava o atelier e ia para a paragem do autocarro para regressar a casa.
Um ano antes, Alma calculava que ia viver sem percalços nem mudanças até aos noventa anos, mas já não estava tão segura disso; suspeitava de que a morte estava a aproximar-se. Antes sentia-a a passear pelo bairro, depois ouvia-a a murmurar pelos cantos da Lark House e agora estava a espreitar no seu apartamento. Aos sessenta anos pensava na morte como algo abstrato que não lhe dizia respeito; aos setenta considerava- a um parente afastado, fácil de esquecer, porque não se menciona, mas que inexoravelmente viria de visita. Depois dos oitenta, porém, começou a familiarizar-se com ela e a comentá-lo com Irina. Via-a por aqui e por ali, sob a forma de uma árvore derrubada no parque, de uma pessoa careca devido ao cancro, do seu pai e da sua mãe a atravessarem a rua; podia reconhecê-los porque estavam iguais à fotografia de Danzig. Às vezes era o irmão Samuel, morto pela segunda vez tranquilamente na cama. O tio Isaac aparecia-lhe vigoroso, como era antes de o coração lhe falhar, mas a tia Lillian vinha cumprimentá-la de vez em quando, na semivigília do amanhecer, tal como era no final da sua vida, uma velhinha de cor lilás, cega, surda e feliz, porque acreditava que o marido a levava pela mão. «Observa esta sombra na parede, Irina, não parece a silhueta de um homem? Deve ser Nathaniel. Não te preocupes, rapariga, não estou demente, sei que é apenas a minha imaginação.» Falava-lhe de Nathaniel, da sua bondade, do seu talento para resolver problemas e abordar dificuldades, de como foi e continuava a ser o seu anjo da guarda.
— É uma forma de falar, Irina, não existem anjos pessoais.
— Claro que existem! Se eu não tivesse dois anjos da guarda já estaria morta, ou talvez tivesse cometido um crime e estivesse presa.
— Tens cada ideia, Irina! Na tradição judaica os anjos são mensageiros de Deus, não são guarda-costas dos humanos, mas eu conto com o meu guarda-costas: Nathaniel. Tomou sempre conta de mim. Primeiro como um irmão mais velho, depois como um marido perfeito. Nunca poderei pagar-lhe tudo o que fez por mim.
— Estiveram casados quase trinta anos, Alma, tiveram um filho e netos, trabalharam juntos na Fundação Belasco, a senhora cuidou dele durante a sua doença e apoiou-o até ao final. Certamente ele pensava a mesma coisa, que não poderia pagar-lhe o que fez por ele.
— Nathaniel merecia muito mais amor do que o que eu lhe dei, Irina.
— Quer dizer que o amou mais como um irmão do que como um marido?
— Amigo, primo, irmão, marido... Não sei qual é a diferença. Quando casamos houve falatório, porque éramos primos, isso era considerado incestuoso, julgo que ainda é. Suponho que o nosso amor foi sempre incestuoso.
O agente Wilkins
Na segunda sexta-feira de outubro, Ron Wilkins apareceu em Lark House à procura de Irina. Era um agente do FBI, afro-americano, de sessenta e cinco anos, corpulento, com cabelo cinzento e mãos expressivas. Surpreendida, Irina perguntou-lhe como conseguira encontrá-la e Wilkins respondeu-lhe que estar bem informado fazia parte do seu trabalho. Não se viam há três anos, mas costumavam falar por telefone. Wilkins telefonava-lhe de vez em quando para saber dela. «Estou bem, não se preocupe, o passado ficou para trás, já nem me recordo daquilo tudo», era a invariável resposta da jovem, mas ambos sabiam que não era verdade. Quando Irina o conhecera, Wilkins parecia estar prestes a rebentar o fato com os seus músculos de levantador de pesos; onze anos mais tarde, os músculos tinham-se transformado em gordura, mas continuava a transmitir a mesma impressão de robustez e energia da sua juventude. Contou-lhe que já era avô e mostrou-lhe uma fotografia do neto, um menino de dois anos muito mais claro de pele do que o avô. «O pai é holandês», disse Wilkins em modo de explicação, embora Irina não tivesse feito nenhuma pergunta. Acrescentou que estava na idade de se reformar, de facto era praticamente uma exigência na Agência, mas ele estava preso à sua cadeira. Não podia retirar-se, continuava a perseguir o crime a que tinha dedicado a maior parte da sua vida profissional.
O agente chegou à Lark House a meio da manhã. Sentaram-se num banco de madeira no jardim a tomar o café aguado, que estava sempre disponível na biblioteca e de que ninguém gostava. Um vapor ténue eleva-se da terra úmida devido ao orvalho da noite e o ar começava a aquecer com o pálido sol de outono. Podiam falar em paz, estavam sozinhos. Alguns dos residentes já estavam nas suas aulas matinais, mas a maioria levantava-se tarde. Apenas Victor Vikashev, o chefe dos jardineiros, um russo com aspeto de guerreiro tártaro, que trabalhava na Lark House há dezanove anos, cantarolava no horto, e Cathy passou velozmente na sua cadeira elétrica rumo à clínica da dor.
— Tenho boas notícias, Elisabeta — anunciou Wilkins a Irina.
— Ninguém me chama Elisabeta há anos.
— Claro. Desculpa.
— Lembre-se de que agora sou Irina Bazili. Foi o senhor que me ajudou a escolher o nome.
— Conta-me, miúda. Como vai a tua vida? Estás a fazer terapia?
— Sejamos realistas, agente Wilkins. Sabe quanto ganho? Não chega para pagar a um psicólogo. O Estado paga apenas três sessões e já usufruí delas, mas, como pode ver, não me suicidei. Faço uma vida normal, trabalho e estou a pensar fazer um curso pela internet. Quero estudar massagem terapêutica: é uma boa profissão para alguém com mãos fortes como eu.
— Tens acompanhamento médico?
— Sim. Ando a tomar um antidepressivo.
— Onde vives?
— Em Berkeley, num quarto de tamanho razoável e barato.
— Este emprego é adequado para ti, Irina. Aqui tens tranquilidade, ninguém te incomoda, estás segura.
Falaram-me muito bem de ti. Tive uma conversa com o diretor e ele disse-me que eras a sua melhor funcionária. Tens namorado?
— Tinha, mas morreu.
— O quê?! Ó meu Deus! Só te faltava isso, miúda, sinto muito. Como é que morreu?
— De velho, julgo eu; tinha mais de noventa anos. Mas aqui há outros senhores de idade dispostos a serem meus namorados.
Wilkins não achou graça. Estiveram calados durante um bocado, a soprar e a sorver o café dos copos de papel. Irina sentiu-se subitamente cheia de tristeza e solidão, como se os pensamentos daquele bom homem a tivessem invadido, mesclando-se com os seus, e sentiu um nó na garganta. Respondendo a uma comunicação telepática, Ron Wilkins pôs-lhe um braço por cima dos ombros e apertou-a contra o seu largo peito. Cheirava a uma colônia adocicada, incongruente num homenzarrão como ele. Ela sentiu o calor de estufa que Wilkins emanava, a áspera textura do seu jaquetão contra a face, o peso reconfortante do seu braço, e descansou durante alguns minutos, protegida, inspirando o seu cheiro a cortesã, enquanto ele lhe dava palmadinhas nas costas, como faria com o seu neto para o consolar.
— Quais são as notícias que me traz? — perguntou Irina, quando recuperou um pouco.
— Indemnização, Irina. Existe uma antiga lei, da qual já ninguém se lembra, que dá direito a que vítimas como tu recebam uma compensação. Com esse dinheiro poderias pagar a tua terapia, de que na verdade necessitas, os teus estudos e, se tivermos sorte, inclusive poderás dar a entrada para um pequeno apartamento.
— Isso na teoria, senhor Wilkins.
— Há algumas pessoas que já receberam indemnizações. Explicou-lhe que, embora o caso dela não fosse recente, um bom advogado poderia provar que ela fora vítima de consequências graves por causa do que acontecera, sofria de síndroma pós- traumático, precisava de ajuda psicológica e de medicamentos.
Irina lembrou-lhe que o culpado não possuía bens que pudessem ser confiscados para a indemnizar.
— Prenderam outros homens da rede, Irina. Homens com poder e dinheiro.
— Esses homens não me fizeram nada. Há apenas um culpado, senhor Wilkins.
— Ouve, miúda. Tiveste de trocar de identidade e de residência, perdeste a tua mãe, as tuas colegas de escola e o resto das pessoas que conhecias, vives praticamente escondida num outro estado. O que aconteceu não pertence ao passado, pode dizer-se que continua a acontecer e que há muitos culpados.
— Eu antes também pensava assim, senhor Wilkins, mas decidi que não vou ser uma vítima para sempre, deixei isso para trás. Agora sou Irina Bazili e tenho outra vida.
— Custa-me relembrar, mas continuas a ser uma vítima. Alguns dos acusados ficariam satisfeitos por te pagarem uma indemnização para se livrarem do escândalo. Dás-me autorização para dar o teu nome a um advogado especialista nestes casos?
— Não. Para que vamos remexer nisso?
— Pensa bem nisso, miúda. Pensa nisso muito bem e telefona-me para este número — disse-lhe o agente, dando-lhe o seu cartão.
Irina acompanhou Ron Wilkins à saída e guardou o cartão sem intenção de o usar; tinha-se arranjado sozinha, não precisava daquele dinheiro, que considerava imundo e que significava suportar de novo os mesmos interrogatórios e assinar declarações com os pormenores mais escabrosos; não queria avivar as chamas do passado nos tribunais, era maior de idade e nenhum juiz evitaria que tivesse de enfrentar os acusados.
E a imprensa? Ficava horrorizada ao pensar que as pessoas que eram importantes para ela ficassem a saber, os poucos amigos, as velhinhas da Lark House, Alma e sobretudo Seth Belasco.
Às seis da tarde, Cathy telefonou para o telemóvel de Irina e convidou-a para tomar chá na biblioteca. Instalaram-se num canto do espaço, próximo da janela e longe da passagem das pessoas. Cathy não gostava do chá em preservativos, como chamava às bolsinhas da Lark House, e tinha o seu próprio bule, chávenas de porcelana e uma reserva inesgotável de chá a granel de uma marca francesa e bolachas de manteiga. Irina foi à cozinha pôr água a ferver no bule e não tentou ajudar Cathy com o resto dos preparativos, porque esse ritual era importante para ela, que o realizava apesar dos movimentos espasmódicos dos braços. Não conseguia levar a delicada chávena aos lábios, tinha de usar uma de plástico e uma palhinha, mas apreciava ver a chávena herdada da avó nas mãos da sua convidada.
— Quem era aquele homem negro que te abraçou no jardim hoje de manhã? — perguntou Cathy, depois de terem comentado o último episódio de uma série de televisão sobre mulheres na prisão, que as duas seguiam rigorosamente.
— Era apenas um amigo que já não via há algum tempo... — balbuciou Irina, servindo-lhe mais chá, para disfarçar a perturbação.
— Não acredito, Irina. Há algum tempo que te observo e sei que alguma coisa te está a consumir por dentro.
— A mim? Isso são ideias suas, Cathy! Já lhe disse que é apenas um amigo.
— Ron Wilkins. Disseram-me o nome dele na recepção. Fui perguntar quem é que te tinha vindo visitar, tive a sensação de que esse homem te tinha deixado transtornada.
Os anos de imobilidade e o esforço tremendo para sobreviver tinham reduzido o tamanho de Cathy, que parecia uma menina na volumosa cadeira elétrica, mas irradiava uma enorme força, suavizada pela bondade que sempre tivera e que o acidente multiplicara. O seu permanente sorriso e o cabelo muito curto davam-lhe um ar travesso, que contrastava com a sua sabedoria de monge milenar. O sofrimento físico libertara-a dos defeitos inevitáveis da personalidade e tinha-lhe lapidado o espírito como um diamante. Os derrames cerebrais não afetaram o seu intelecto, mas, tal como ela dizia, trocaram-lhe os fusíveis e em consequência disso aguçou-se-lhe a intuição e podia ver o invisível.
— Aproxima-te, Irina — disse-lhe.
As mãos de Cathy, pequenas, frias, com os dedos deformados devido às ruturas, agarraram o braço da rapariga.
— Sabes o que mais ajuda na desgraça, Irina? Falar. Ninguém pode andar pelo mundo sozinho. Porque julgas tu que criei a clínica da dor? Porque a dor partilhada é mais suportável. A clínica serve os pacientes, mas serve-me mais a mim. Todos temos demônios nos recantos mais escuros da alma, mas se os trazemos à luz, os demônios mirram, enfraquecem, calam-se e por fim deixam-nos em paz.
Irina tentou libertar-se daqueles dedos fortes como tenazes, mas não conseguiu. Os olhos cinzentos de Cathy fixaram-se longamente nos seus com tanta compaixão e afeto que ela não conseguiu afastá-la. Sentou-se no chão, apoiou a cabeça nos joelhos nodosos de Cathy e deixou-se acariciar pelas suas mãos encarquilhadas. Ninguém a tocara daquela forma desde que se separara dos avós.
Cathy disse-lhe que a tarefa mais importante na vida era limpar os próprios atos, comprometer-se totalmente com a realidade, colocar toda a energia no presente e fazê-lo agora, imediatamente. Não podemos ficar à espera, aprendera isso com o acidente. Nas condições em que estava, tinha tempo para aprofundar os seus pensamentos, para se conhecer melhor.
Ser, estar, amar a luz do sol, as pessoas, os pássaros. A dor ia e vinha, as náuseas iam e vinham, os desarranjos intestinais iam e vinham, mas por qualquer razão não perdia muito tempo com isso. Pelo contrário, sentia-se lúcida para gozar cada gota de água no duche, a sensação das mãos amigas a lavarem-lhe o cabelo com champô, o frio delicioso de uma limonada num dia de verão. Não pensava no futuro, apenas nesse dia.
— O que estou a tentar dizer-te, Irina, é que não deves continuar agarrada ao passado e com medo do futuro. Só tens uma vida, mas se a viveres bem é o suficiente. A única realidade é agora, este dia. De que estás à espera para começar a ser feliz? Todos os dias contam. Eu que o diga!
— A felicidade não é para todos, Cathy.
— Claro que é. Todos nascemos felizes. Ao longo do caminho a vida vai-se sujando, mas podemos limpá-la. A felicidade não é exuberante nem buliçosa, como o prazer e a alegria. É silenciosa, tranquila, suave, um estado interior de satisfação que começa por nos amarmos a nós próprios. Tu devias gostar de ti como eu gosto e como gostam todos os que te conhecem, especialmente o neto de Alma.
— Seth não me conhece.
— Não é por culpa dele, o desgraçado anda há anos a tentar aproximar-se de ti, isso está à vista de toda a gente. Se não conseguiu é porque tu te escondes. Fala-me desse Wilkins, Irina.
Irina Bazili tinha uma história oficial sobre o seu passado, que construíra com a ajuda de Ron Wilkins e que utilizava para responder à curiosidade alheia, quando era impossível evitá-la. Continha a verdade, mas não toda a verdade, só a parte tolerável. Aos quinze anos, os tribunais tinham-lhe atribuído uma psicóloga que a tratou durante vários meses, até que ela se recusou a continuar a falar do que acontecera e decidiu adotar outro nome, ir viver para outro estado e mudar de residência as vezes que fossem necessárias para começar de novo.
A psicóloga avisara-a de que os traumas não desparecem por os ignorarmos; são uma Medusa persistente que aguarda na sombra e na primeira oportunidade ataca com a sua cabeça de serpentes. Em vez de lutar, Irina fugiu; desde então, a sua existência tinha sido uma fuga constante, até ter chegado à Lark House. Refugiava-se no trabalho e no mundo virtual dos videojogos e dos romances de literatura fantástica, em que ela não era Irina Bazili, mas uma corajosa heroína com poderes mágicos; porém, o aparecimento de Wilkins fez desmoronar uma vez mais aquele frágil universo quimérico. Os pesadelos do passado eram como pó assente no caminho, bastava o mais ínfimo sopro para o levantar em redemoinhos. Rendida, compreendeu que apenas Catherine Hope, com o seu escudo de ouro, a poderia ajudar.
Em 1977, quando os avós receberam a carta de Radmila que mudou o seu destino, tinha dez anos. A mãe vira um programa de televisão sobre tráfico sexual e teve conhecimento de que países como a Moldávia abasteciam de carne jovem os emirados árabes e os bordéis da Europa. Recordou com calafrios o tempo que passou nas mãos de chulos cruéis na Turquia e, decidida a evitar que a filha tivesse a mesma sorte, convenceu o seu marido, o técnico americano que conheceu em Itália e a levou para o Texas, a ajudar a menina a emigrar para os Estados Unidos. Irina ia ter tudo o que quisesse, a melhor educação, hambúrgueres e batatas fritas, gelados, inclusive iriam à Disney World, prometia a carta. Os avós disseram a Irina para não contar a ninguém, para evitar a inveja e o mau-olhado que costuma castigar os gabarolas, enquanto tratavam dos trâmites para conseguir o visto.
Esse processo demorou dois anos. Quando por fim chegaram os bilhetes e o passaporte, Irina já tinha feito doze anos, mas parecia um rapazinho malnutrido de oito, porque era baixa, muito magra, com o cabelo branco e indomável. De tanto sonhar com a América foi adquirindo consciência da miséria e da fealdade que a rodeavam, de que antes não se dera conta, porque não tinha termo de comparação. A sua aldeia parecia ter sido alvo de um bombardeamento, metade das casas estavam entaipadas ou em ruínas, matilhas de cães esfomeados vagueavam pelas ruas de terra, galinhas soltas esgaravatavam no lixo e os velhos sentavam-se na ombreira dos seus antros a fumar tabaco negro em silêncio, porque não havia nada para dizer. Ao longo desses dois anos Irina despediu-se um a um das árvores, das colinas, da terra e do céu, que de acordo com os avós eram os mesmos da época do comunismo e continuariam a sê-lo para sempre. Despediu-se em silêncio dos vizinhos e das crianças da escola, despediu-se do burro, da cabra, dos gatos e do cão que lhe fizeram companhia na infância. Por último, despediu-se de Costea e de Petruta.
Os avós prepararam uma caixa de cartão atada com cordéis com a roupa de Irina e uma imagem nova de santa Parescheva, que compraram num mercado de santos da aldeia mais próxima. Talvez os três já soubessem que não voltariam a ver-se. A partir dessa altura, Irina criou o hábito, estivesse onde estivesse, mesmo que fosse apenas por uma noite, de instalar um pequeno altar onde colocava a santa e a única fotografia que tinha dos avós. Retocada à mão, tinha sido tirada no dia do casamento deles, vestidos com os trajes tradicionais, Petruta com saia bordada e touca de renda, Costea com calções até aos joelhos, jaqueta curta e uma faixa larga na cintura, hirtos como varas, irreconhecíveis, porque o trabalho ainda não lhes tinha destruído as costas. Não passava um dia sem que Irina lhes rezasse, pois eram mais milagrosos do que a santa Parescheva, eram os seus anjos da guarda, como lhe dissera Alma.
De alguma forma, a menina foi sozinha de Chisinau até Dallas. Anteriormente só viajara uma vez, com a avó de comboio, para visitar Costea no hospital da cidade mais próxima, quando o operaram à vesícula. Nunca tinha visto um avião de perto, só no ar, e o único inglês que sabia era o das canções da moda, que memorizara de ouvido sem compreender o significado. A companhia aérea pendurou-lhe ao pescoço um invólucro de plástico com a sua identificação, o passaporte e o bilhete. Irina não comeu nem bebeu durante as onze horas de viagem, porque não sabia que a comida do avião era grátis e a hospedeira não lho explicou, e o mesmo aconteceu durante as quatro horas que passou, sem dinheiro, no aeroporto de Dallas. A porta de entrada para o sonho americano foi esse enorme e confuso lugar. A mãe e o padrasto, quando finalmente apareceram para a ir buscar, disseram que se tinham enganado na hora de chegada do avião. Irina não os conhecia, mas eles viram uma miudinha muito loira sentada num banco com uma caixa de cartão aos pés e identificaram-na, pois tinham a fotografia dela. Desse encontro Irina só se lembrava que ambos tresandavam a álcool, aquele odor acre que conhecia muito bem, pois os seus avós e o resto da aldeia afogavam as suas desilusões em vinho caseiro.
Radmila e Jim Robyns, o marido, levaram a recém-chegada até à casa deles, que lhe pareceu luxuosa, embora fosse uma vulgar casa de madeira, muito desarrumada, num bairro operário ao sul da cidade. A mãe fizera-lhe a surpresa de decorar um dos quartos com almofadas em forma de coração e um urso de peluche com o fio de um balão cor-de-rosa atado a uma pata. Aconselhou Irina a sentar-se diante da televisão o maior número de horas que conseguisse aguentar; era a melhor forma de aprender inglês, e fora assim que ela o fizera. Ao fim de quarenta e oito horas tinha-a inscrito numa escola pública, onde a maior parte dos alunos eram negros e hispânicos, raças que a menina nunca tinha visto.
Irina demorou um mês a aprender umas frases em inglês, no entanto como tinha bom ouvido rapidamente conseguiu acompanhar as aulas. Ao fim de um ano já o falava sem sotaque.
Jim Robyns era eletricista e pertencia ao sindicato, ganhava o máximo possível por hora e estava protegido em caso de acidentes ou outros dissabores, mas nem sempre tinha emprego. Os contratos eram assinados à vez, de acordo com uma lista de membros, começava pelo que estava no topo, a seguir era a vez do segundo da lista, do terceiro e assim sucessivamente. Quem terminava um contrato era colocado no fim e às vezes esperava durante meses até voltar a ser chamado, a menos que mantivesse boas relações com os chefes do sindicato. Radmila trabalhava na secção de roupa infantil de uma loja; demorava uma hora e um quarto de autocarro para lá chegar e outro tanto para regressar. Quando Jim Robyns estava empregado, viam-no muito pouco, porque ele aproveitava para trabalhar até à exaustão; pagavam-lhe o dobro ou o triplo pelas horas extraordinárias. Durante esses períodos não bebia nem se drogava, porque numa distração podia ser eletrocutado, mas nas longas temporadas de ócio encharcava-se em álcool e usava tantas drogas misturadas que era incrível que conseguisse manter-se em pé. «O meu Jim tem a resistência de um touro, nada o derruba», dizia Radmila, orgulhosa. Ela acompanhava-o nas farras até onde o corpo aguentava, mas não tinha a mesma capacidade de resistência e rapidamente apagava.
Desde os primeiros dias na América, o padrasto deu a conhecer a Irina as suas regras, como lhes chamava. A mãe não sabia, ou fez de conta que não sabia, até dois anos mais tarde, quando Ron Wilkins bateu à sua porta e lhe mostrou um crachá do FBI.
Segredos
Depois de várias súplicas de Irina e hesitações normais, Alma aceitou encabeçar o Grupo do Desapego, que a rapariga se lembrara de criar ao constatar que os hóspedes da Lark House que se agarravam às suas posses andavam mais angustiados e que aqueles que menos tinham viviam mais felizes. Vira Alma libertar-se de tantas coisas que chegou a temer que ia ter de lhe emprestar a sua escova de dentes, por isso pensou nela para dinamizar o grupo. A primeira reunião ia realizar-se na biblioteca. Tinham-se inscrito cinco hóspedes, entre eles Lenny Beal, que compareceram pontualmente, mas Alma não apareceu. Esperaram por ela quinze minutos antes de Irina ir chamá-la. Encontrou o apartamento vazio e um recado de Alma a informar que ia ausentar-se durante uns dias e a pedir-lhe que tomasse conta de Neko. O gato estivera doente e não podia ficar sozinho. Na casa de Irina era proibido ter animais e, por isso, esta teve de o levar às escondidas num saco de compras.
Nessa noite Seth ligou-lhe para o telemóvel para saber da avó, porque tinha ido visitá-la à hora do jantar, não a tinha encontrado e estava preocupado; pensara que Alma não se recompusera completamente do episódio do cinema. Irina disse-lhe que tinha ido a outro dos seus encontros amorosos e que se tinha esquecido de um compromisso; ela passara um mau bocado com o Grupo do Desapego.
Seth tinha-se reunido com um cliente no porto de Oakland e, visto estar próximo de Berkeley, convidou Irina para comer sushi; pareceu-lhe a comida mais adequada para falar do amante japonês. Ela estava na cama com Neko a jogar Elder Scrolls quinto, o seu videojogo preferido, mas vestiu-se e saiu. O restaurante era um refúgio de paz oriental, todo em madeira clara, com compartimentos separados por tabiques de papel de arroz, iluminado com candeeiros vermelhos, cuja cálida luminosidade convidava à calma.
— Onde pensas que vai Alma quando desaparece? — perguntou-lhe Seth depois de pedir a comida.
Ela encheu-lhe o copinho de cerâmica de sake. Alma dissera-lhe que o correto no Japão era servir o companheiro de mesa e esperar que alguém nos atenda.
— A uma pousada em Point Reyes, a cerca de uma hora e um quarto de São Francisco. São cabanas rústicas em frente à água, um sítio bastante afastado, com bom peixe e marisco, sauna, bonita vista e quartos românticos. Nesta época faz frio, mas todas as cabanas têm uma lareira.
— Como é que sabes isso tudo?
— Por causa dos recibos do cartão de crédito de Alma. Procurei a pousada na internet. Suponho que é lá que se encontra com Ichimei. Não estás a pensar em ir incomodá-la, Seth!
— Como podes pensar uma coisa dessas! Ela nunca me perdoaria. Mas podia mandar um dos meus investigadores dar uma vista de olhos...
— Não.
— Não. Claro que não. Mas tens de admitir que isto é inquietante, Irina. A minha avó está debilitada, pode ter outra crise como a do cinema.
— Ela ainda é dona da vida dela, Seth. Sabes mais alguma coisa sobre os Fukuda?
— Sim. Lembrei-me de perguntar ao meu pai e ele lembra-se de Ichimei.
Larry Belasco tinha doze anos em 1970, quando os seus pais renovaram a casa de Sea Cliff e adquiriram o terreno vizinho para ampliar o jardim, que já era vasto e nunca tinha recuperado da geada primaveril, que o destruíra quando Isaac Belasco morreu, nem do abandono posterior. De acordo com as suas memórias, um dia apareceu um homem de traços asiáticos, com roupa de trabalho e um boné de beisebol que não quis entrar na casa, com o pretexto de que tinha as botas enlameadas. Era Ichimei Fukuda, dono do viveiro de flores e plantas que anteriormente tivera em sociedade com Isaac Belasco e agora lhe pertencia. Larry intuiu que a sua mãe e aquele homem se conheciam. O seu pai disse a Fukuda que ele não sabia nada acerca de jardins e por isso seria Alma a tomar as decisões, o que surpreendeu o rapaz, porque Nathaniel dirigia a Fundação Belasco e, pelo menos em teoria, percebia muito de jardins. Dado o tamanho da propriedade e os planos grandiosos de Alma, o projeto demorou vários meses a ficar concluído. Ichimei mediu o terreno, examinou a qualidade do solo, a temperatura e a direção do vento, traçou linhas e números num bloco de desenho, seguido de perto por Larry, intrigado. Pouco depois, chegou uma equipa de seis trabalhadores, todos da raça dele, e o primeiro camião de materiais. Ichimei era um homem tranquilo e de gestos comedidos, observava com atenção, nunca parecia apressado, falava pouco e quando o fazia a voz dele era tão baixa que Larry tinha de se aproximar para o ouvir. Raras vezes iniciava uma conversação e respondia a perguntas sobre si próprio, mas como percebeu o seu interesse, falava-lhe da natureza.
— O meu pai disse-me uma coisa muito curiosa, Irina. Garantiu-me que Ichimei tem auréola — acrescentou Seth.
— O quê?
— Auréola, um halo invisível. É um círculo de luz por trás da cabeça, como os que têm os santos nas pinturas religiosas. O de Ichimei é visível. O meu pai disse-me que nem sempre se consegue ver, só às vezes, dependendo da luz.
— Estás a brincar, Seth...
— O meu pai não brinca, Irina. Ah! Outra coisa: o homem deve ser uma espécie de faquir, porque controla a pulsação e a sua temperatura, pode aquecer uma mão como se estivesse a arder de febre e congelar a outra. Ichimei demonstrou-o ao meu pai várias vezes.
— Isso foi Larry que te disse ou estás a inventar?
— Juro-te que mo disse. O meu pai é um cético, Irina, não acredita em nada que não possa verificar por si mesmo.
Ichimei Fukuda concluiu o projeto e acrescentou como obséquio um pequeno jardim japonês, que desenhou para Alma, e depois delegou o resto aos outros jardineiros. Larry apenas o via quando aparecia de tempos a tempos para supervisionar. Reparou que nunca conversava com Nathaniel, apenas com Alma, com quem mantinha uma relação formal, pelo menos à sua frente. Ichimei chegava à porta de serviço com um ramo de flores, tirava os sapatos e entrava cumprimentando com uma ligeira inclinação. Alma estava sempre à espera dele na cozinha e respondia ao cumprimento da mesma maneira. Ela colocava as flores num jarrão, ele aceitava uma chávena de chá e durante um bocado partilhavam esse lento e silencioso ritual, uma pausa na vida de ambos. Ao fim de alguns anos, quando Ichimei deixou de aparecer em Sea Cliff, a mãe explicou a Larry que ele tinha ido fazer uma viagem ao Japão.
— Nessa época seriam amantes, Seth? — perguntou Irina.
— Não posso fazer essa pergunta ao meu pai, Irina. Além disso, não o saberia. Não sabemos quase nada dos nossos próprios pais. Mas vamos supor que eram amantes em 1955, como a minha avó disse a Lenny Beal, separaram-se quando Alma se casou com Nathaniel, reencontraram-se em 1962, e desde então estão juntos.
— Porquê em 1962? — perguntou Irina.
— Estou a supor, Irina, não tenho a certeza. O meu bisavô Isaac morreu nesse ano.
Descreveu as cerimônias fúnebres de Isaac Belasco e como nesse momento a família teve conhecimento do bem que o patriarca tinha feito ao longo da vida: as pessoas que tinha defendido gratuitamente como advogado, o dinheiro que emprestou a quem passava dificuldades, as crianças alheias que educou e as causas nobres que apoiou. Seth descobrira que os Fukuda deviam muitos favores a Isaac Belasco, respeitavam-no e sentiam carinho por ele, e deduziu que sem dúvida tinham assistido a um dos seus funerais. Segundo a história da família, pouco antes da morte de Isaac, os Fukuda retiraram de Sea Cliff uma espada antiga que aí tinham enterrado. Ainda existia no jardim a placa que Isaac mandara colocar para marcar o sítio. O mais provável era que Alma e Ichimei se tivessem reencontrado nesse momento.
— De 1955 a 2013 são cinquenta e tal anos, mais ou menos o que Alma disse a Lenny — calculou Irina.
— Se o meu avô Nathaniel suspeitava de que a mulher tinha um amante, fingiu ignorá-lo. Na minha família as aparências são mais importantes do que a verdade.
— Para ti também?
— Não. Eu sou a ovelha negra. Basta dizer-te que estou apaixonado por uma rapariga pálida como um vampiro da Moldávia.
— Os vampiros são da Transilvânia, Seth.
3 de março de 2004
“Por estes dias tenho-me lembrado muito de D. Isaac Belasco, porque o meu filho Mike
fez quarenta anos e decidi entregar-lhe a katana dos Fukuda; a ele corresponde o dever de tomar conta dela. O teu tio Isaac telefonou-me um dia, no início de 1962, para me dizer que se calhar tinha chegado o momento de retirar a espada, que estava há vinte anos enterrada no jardim de Sea Cliff. De certeza que já suspeitava que estava muito doente e que o seu fim se aproximava. Fomos todos os que restavam da nossa família: a minha mãe, a minha irmã e eu. Acompanhou- nos Kemi Morita, a líder espiritual da Oomoto. No dia da cerimônia no jardim, tu estavas em viagem com o teu marido. Possivelmente o teu tio escolheu precisamente aquela data para evitar que nós nos encontrássemos. O que é que ele sabia sobre nós? Imagino que muito pouco, mas era muito perspicaz.”
Ichi
Enquanto Irina acompanhava o sushi com chá verde, Seth bebeu mais sake quente do que podia aguentar. O conteúdo do copinho desaparecia de um gole e Irina, distraída com a conversa, voltava a enchê-lo. Nenhum dos dois se apercebeu quando o empregado, vestido com um quimono azul com um hachimaki na testa, lhes trouxe outra garrafa. Quando chegou a sobremesa — gelados de caramelo — Irina apercebeu-se da expressão embriagada e suplicante de Seth, um sinal de que chegara o momento de se despedir, antes que a situação se tornasse desconfortável, mas não podia abandoná-lo no estado em que estava. O empregado ofereceu-se para chamar um táxi, mas ele recusou. Saiu aos tropeções, apoiado em Irina, e lá fora o ar frio avivou o efeito do sake.
— Acho que não devo dirigir... Posso passar a noite contigo? — balbuciou com a voz pastosa.
— E a moto? Aqui podem roubar.
— Que se lixe a moto.
Foram a pé cerca de um quilômetro e meio até casa de Irina, o que levou quase uma hora, porque Seth ia a passo de caranguejo. Ela já vivera em sítios piores, mas na companhia de Seth sentiu-se envergonhada daquele casarão desengonçado e sujo. Partilhava casa com catorze inquilinos amontoados em quartos feitos com divisórias de madeira aglomerada, alguns sem janela nem ventilação. Era um desses imóveis de aluguer regulado de Berkeley que os donos não se preocupavam em recuperar porque não podiam aumentar a renda. Da pintura exterior restavam manchas, as persianas tinham-se desprendido dos gonzos e no pátio acumulavam-se objetos inúteis: pneus furados, peças de bicicleta, uma sanita cor de abacate que estava ali há quinze anos. Por dentro cheirava a uma mistura de incenso de patchuli e sopa rançosa de couve-flor. Ninguém limpava os corredores nem as casas de banho comuns. Irina tomava banho na Lark House.
— Por que é que vives nesta pocilga? — perguntou Seth, escandalizado.
— Porque é barato.
— Então és muito mais pobre do que eu imaginava, Irina.
— Não sei o que imaginavas, Seth. Quase toda a gente é mais pobre do que os Belasco.
Ajudou-o a tirar os sapatos e empurrou-o para cima do colchão no chão que servia de cama. Os lençóis estavam limpos, como tudo naquele quarto, porque os avós tinham ensinado a Irina que a pobreza não é desculpa para a sujidade.
— O que é aquilo? — perguntou Seth, apontando para uma campainha na parede, atada com um cordel que passava por um buraco para o quarto vizinho.
— Não é nada. Não te preocupes.
— Como nada. Quem é que vive do outro lado?
— Tim, o meu amigo da cafetaria, o meu sócio do negócio de dar banho a cães. Às vezes tenho pesadelos e se começo a gritar ele puxa o cordel, toca a campainha e acordo. É uma combinação que temos.
— Tu tens pesadelos, Irina?
— Claro. Tu não?
— Não, mas tenho sonhos eróticos, isso sim. Queres que te conte um?
— Dorme, Seth.
Em menos de dois minutos Seth obedecera. Irina deu o medicamento a Neko, lavou-se com o jarro de água e a bacia que tinha num canto, tirou as calças de ganga e a blusa, vestiu uma velha t-shirt e enroscou-se encostada à parede, separada de Seth pelo gato. Teve bastante dificuldade em adormecer, atenta à presença do homem ao seu lado, aos ruídos da casa e do pivete a couve-flor. A única janelinha para o mundo exterior ficava tão alta que apenas vislumbrava um pequeno quadrilátero do céu. Às vezes a lua passava a cumprimentar fugazmente, antes de seguir o seu trajeto, mas esta não era uma dessas benditas noites.
Irina acordou com a pouca luz da manhã que entrava nos seus aposentos e verificou que Seth já não estava lá. Eram nove horas e ela devia ter saído há uma hora e meia para ir trabalhar. Doíam-lhe a cabeça e todos os ossos, como se por osmose a ressaca de sake a tivesse contagiado.
A confissão
Alma não regressou nesse dia à Lark House, nem no seguinte, e também não telefonou para perguntar por Neko. O gato não comia há três dias e apenas engolia a água que Irina lhe metia pelo focinho com uma seringa; o medicamento não fizera efeito. Ia pedir a Lenny Beal para o levar ao veterinário, mas apareceu Seth Belasco na Lark House, fresco, barbeado, com roupa limpa e ar de arrependimento, envergonhado pelo episódio da noite anterior.
— Acabei de saber que o sake tem dezassete por cento de teor alcoólico — disse.
— Vieste de moto? — interrompeu Irina.
— Sim. Encontrei-a intacta no sítio onde a deixamos.
— Então leva-me ao veterinário.
Foram atendidos pelo doutor Kallet, o mesmo que anos antes tinha amputado a pata a Sofia. Não era uma coincidência: o veterinário era voluntário da organização e dava para adoção cães romenos e Lenny recomendara-o a Alma. O doutor Kallet diagnosticou um bloqueio intestinal; o gato tinha de ser operado imediatamente, mas Irina não podia tomar essa decisão e o telemóvel de Alma estava desligado. Seth assumiu a responsabilidade, pagou a caução de setecentos dólares que lhe exigiram e entregou o gato à enfermeira. Pouco depois estava com Irina na cafetaria onde ela trabalhara antes de entrar ao serviço de Alma.
Foram recebidos por Tim, que após três anos não tinha conseguido ascender na carreira.
Seth ainda sentia o estômago às voltas por causa do sake, mas estava desperto e chegara à conclusão de que não podia adiar mais o seu dever de cuidar de Irina. Não estava apaixonado da mesma forma que estivera anteriormente por outras mulheres, com uma paixão obsessiva sem espaço para a ternura. Desejava-a e esperara que ela iniciasse o caminho sinuoso do erotismo, mas a sua paciência fora inútil; tinha chegado a hora de agir de facto ou de renunciar definitivamente a ela. Algo no passado de Irina a reprimia, não havia outra explicação para o seu temor visceral à intimidade. Sentia-se tentado pela ideia de recorrer aos serviços dos seus investigadores, mas decidira que Irina não merecia tal deslealdade. Calculou que a incógnita acabaria um dia por ser deslindada e engoliu as perguntas, mas já estava farto de tantas considerações. O mais urgente era tirá-la daquele ninho de ratos onde vivia. Preparara os seus argumentos como se fosse enfrentar um júri, mas quando a teve frente e frente, com a sua cara de duende e o seu gorro deplorável, esqueceu-se do discurso e propôs-lhe de forma brusca que fosse viver com ele.
— O meu apartamento é confortável, sobram-me metros quadrados, terias o teu quarto e a tua casa de banho privados. Gratuitos.
— Em troca de quê? — perguntou-lhe ela, incrédula.
— De trabalhares para mim.
— Em quê exatamente?
— No livro sobre os Belasco. Exige muita investigação e eu não tenho tempo.
— Trabalho quarenta horas por semana na Lark House e mais doze para a tua avó, além disso dou banhos a cães aos fins de semana e tenho intenções de começar a estudar à noite. Tenho menos tempo do que tu, Seth.
— Podias deixar essas coisas todas, menos a minha avó, e dedicavas-te ao meu livro. Terias onde viver e um bom salário. Quero experimentar como será viver com uma mulher, nunca o fiz e é melhor praticar um pouco.
— Vejo que ficaste surpreendido com o meu quarto, não quero que sintas pena de mim.
— Não tenho pena de ti. Neste momento tenho raiva de ti.
— Pretendes que deixe o meu trabalho, os meus ganhos garantidos, o quarto com renda fixa de Berkeley que tanto me custou a arranjar, que me aloje no teu apartamento e que vá para a rua quando te cansares de mim. É muito aliciante.
— Não compreendeste nada, Irina!
— Sim, compreendi, Seth. Queres uma secretária com direito a cama.
— Caramba! Não vou suplicar, Irina, mas aviso-te que estou prestes a dar meia- volta e a desaparecer da tua vida. Sabes o que sinto por ti, é evidente até para a minha avó.
— Alma? O que é que a tua avó tem a ver com isto?
— Foi ideia dela. Eu queria propor-te que casássemos e pronto, mas ela disse que era melhor experimentarmos viver juntos um ano ou dois. Isso ia dar-te tempo para te acostumares a mim, e aos meus pais dava-lhes tempo de se habituarem ao facto de não seres judia e seres pobre.
Irina não tentou conter o choro. Escondeu o rosto entre os braços cruzados sobre a mesa, aturdida pela dor de cabeça, que fora aumentando ao longo daquelas horas, e confusa com a avalancha de emoções contraditórias: carinho e agradecimento a Seth, vergonha pelas suas próprias limitações, desespero em relação ao futuro. Aquele homem oferecia-lhe o amor dos romances, mas não podia aceitá-lo. Podia amar os anciãos da Lark House, Alma Belasco, alguns amigos, como o sócio Tim, que nesse momento a observava preocupado do balcão, os avós instalados no tronco de uma sequoia, Neko, Sofia e outros animais de estimação da residência; podia amar Seth mais do que a qualquer pessoa no mundo, mas não o suficiente.
— O que se passa contigo, Irina? — perguntou Seth, desconcertado.
— Não tem nada que ver contigo. São coisas do passado.
— Conta-me.
— Para quê? Não têm importância — respondeu ela, assoando-se num guardanapo de papel.
— Têm muita importância, Irina. Ontem à noite quis pegar-te na mão e quase me bateste. Claro que tinhas razão, eu estava uma desgraça. Desculpa. Não voltará a acontecer, prometo. Desejei-te durante três anos, tu sabes disso muito bem. De que é que estás à espera para me amares? Tem cuidado, mulher, olha que posso encontrar outra rapariga da Moldávia, há centenas delas dispostas a casar em troca de um visto americano.
— Boa ideia, Seth.
— Serias feliz comigo, Irina. Sou o melhor tipo do mundo, totalmente inofensivo.
— Nenhum advogado norte-americano que anda de moto é inofensivo, Seth. Mas reconheço que és uma pessoa fantástica.
— Então aceitas?
— Não posso. Se conhecesses as minhas razões, fugias a correr.
— Deixa-me ver se adivinho: tráfico de animais exóticos em vias de extinção? Não me importo. Vem ver o meu apartamento e depois decides.
O apartamento, num edifício moderno no Embarcadero, com porteiro e espelhos biselados no elevador, estava de tal modo impecável que dava a impressão de estar desabitado.
Exceto um sofá cor de espinafre, um televisor gigante, uma mesa de vidro com revistas e livros empilhados ordenadamente e uns candeeiros dinamarqueses, não havia mais nada naquele Saara de enormes janelas e chão de parqué escuro. Não havia almofadas, quadros, objetos decorativos ou plantas. Na cozinha predominava uma mesa de granito negro e uma brilhante coleção de panelas e sertãs de cobre, sem uso, penduradas nuns ganchos no teto. Por curiosidade, Irina espreitou para dentro do frigorífico e viu sumo de laranja, vinho branco e leite magro.
— Alguma vez comes algo sólido, Seth?
— Sim, em casa dos meus velhotes ou no restaurante. Aqui falta uma mão feminina, como diz a minha mãe. Tu sabes cozinhar, Irina?
— Batatas e couves.
O quarto que segundo Seth estava à espera dela era ascético e masculino como o resto do apartamento, tinha apenas uma cama grande com um cobertor de linho cru e almofadões em três tons de café, que não ajudavam a alegrar o ambiente, uma mesa de cabeceira e uma cadeira metálica. Na parede cor de areia estava pendurada uma das fotos a preto e branco de Alma, tirada por Nathaniel, mas ao contrário das outras, que tinham parecido tão reveladoras a Irina, nesta apenas se via metade do seu rosto adormecido numa atmosfera nublosa de sonho. Era o único elemento decorativo que Irina tinha visto no deserto de Seth.
— Há quanto tempo vives aqui?
— Há cinco anos. Gostas?
— Tem uma vista espetacular.
— Mas o apartamento parece-te muito frio — concluiu Seth. — Bem, se quiseres fazer mudanças, teremos de chegar a um acordo em relação aos detalhes. Não quero folhos nem cores pastel, não combinam com a minha personalidade, no entanto estou disposto a fazer ligeiras concessões na decoração. Não para já, mas mais tarde, quando me suplicares para casar contigo.
— Obrigada. Agora leva-me ao metro, tenho de voltar ao meu quarto. Acho que estou com gripe, dói-me o corpo todo.
— Não, minha menina. Vamos pedir comida chinesa, ver um filme e esperar que o doutor Kallet ligue. Vou dar-te aspirina e chá, isso ajuda. É uma pena eu não ter caldo de galinha, que é um remédio infalível.
— Desculpa, posso tomar um banho de imersão? Não o faço há anos, uso os duches do pessoal da Lark House.
Estava uma tarde luminosa e pela janela junto à banheira apreciava-se o panorama da cidade buliçosa, o trânsito, os veleiros na baía, a multidão nas ruas, a pé, de bicicleta, de patins, os clientes das mesas sob os toldos alaranjados das esplanadas, a torre do relógio do Ferry Building. A tremer de frio, Irina imergiu na água quente até às orelhas e sentiu como os seus músculos contraídos se iam libertando e os ossos doridos iam relaxando; abençoou uma vez mais o dinheiro e a generosidade dos Belasco. Pouco depois, Seth avisou-a do outro lado da porta que a comida tinha chegado, mas deixou-se estar na água por mais meia hora. Por fim, vestiu-se sem vontade, sonolenta, com tonturas. O cheiro dos pacotes com porco agridoce, chow mein e pato à pequim provocou-lhe vômitos. Enroscou-se no sofá, adormeceu e só acordou várias horas mais tarde, quando já escurecera para lá das janelas. Seth pusera-a confortável com uma almofada debaixo da cabeça, tapara-a com uma manta e estava sentado numa ponta do sofá vendo o segundo filme da noite — espiões, crimes internacionais e vilões da máfia russa — com os pés dela sobre os seus joelhos.
— Não quis acordar-te. Telefonou o doutor Kallet e disse que a operação de Neko correu bem, no entanto ele tem um tumor grande no baço e isso é o início do fim — informou-a.
— Coitadinho, espero que não esteja a sofrer...
— O doutor Kallet não vai deixá-lo sofrer, Irina. Estás melhor da dor de cabeça?
— Não sei. Tenho muito sono. Não drogaste o chá, pois não, Seth?
— Sim, coloquei-lhe cetamina. Porque não te metes na cama e dormes como deve ser? Estás com febre.
Levou-a para o quarto com a fotografia de Alma, tirou-lhe os sapatos, ajudou-a a deitar-se, aconchegou-a e a seguir foi acabar de ver o filme. No dia seguinte, Irina acordou tarde, depois de ter suado e dormido a febre; sentia-se melhor, mas ainda sentia as pernas fracas. Encontrou um recado de Seth na mesa negra da cozinha: «O café está pronto para ser coado, liga a cafeteira. A minha avó regressou à Lark House e contei-lhe o que aconteceu com Neko. Ela vai avisar Voigt que tu estás doente e não vais trabalhar. Descansa. Ligo-te mais tarde. Beijos. O teu futuro marido.» Deixara lá também um pacote de caldo de galinha com massa, uma caixinha com framboesas e um saco de papel com pão doce de uma pastelaria próxima.
Seth regressou antes das seis da tarde, logo que saiu dos tribunais, ansioso por ver Irina. Telefonara-lhe várias vezes para verificar se não tinha ido embora, mas temia que num impulso de última hora tivesse desaparecido. Ao pensar nela, a primeira imagem que lhe vinha à cabeça era a de uma lebre preparada para desatar a correr e a segunda era o seu rosto pálido, atento, de boca aberta, olhos redondos de espanto, a ouvir as histórias de Alma, devorando-as. Assim que abriu a porta, sentiu a presença de Irina. Antes de a ver soube que ela estava lá, o apartamento estava habitado, a areia das paredes parecia mais calorosa, o chão tinha um brilho acetinado em que nunca reparara, o próprio ar tinha-se tornado mais agradável. Ela veio ao seu encontro com um andar hesitante, os olhos inchados do sono e o cabelo despenteado como uma peruca esbranquiçada.
Seth abriu-lhe os braços e ela, pela primeira vez, refugiou-se neles. Permaneceram abraçados durante um tempo que para ela foi uma eternidade e para ele demorou um suspiro; depois ela levou-o pela mão até ao sofá. «Temos de falar», disse-lhe.
Catherine Hope fizera-a prometer, depois de ouvir a sua confissão, que contaria tudo a Seth, não só para arrancar de dentro de si aquela planta maligna que a envenenava, mas também porque ele merecia.
No final do ano 2000, o agente Ron Wilkins tinha colaborado com dois investigadores do Canadá para identificarem a origem de centenas de imagens, que circulavam na internet, de uma menina de mais ou menos nove anos submetida a tais excessos de depravação e de violência que provavelmente não teria sobrevivido. Eram as favoritas dos colecionadores especializados em pornografia infantil, que compravam as fotos e os vídeos em privado através de uma rede internacional. A exploração sexual de crianças não era nada de novo, existira durante séculos com total impunidade, mas os agentes contavam com uma lei, promulgada em 1978, que a declarava ilegal nos Estados Unidos. A partir desse ano, a produção e distribuição de fotografias e filmes diminuiu, porque os lucros não justificavam os riscos legais. Então veio a internet e o mercado expandira-se de forma incontrolável. Calculava-se que existiam centenas de milhares de sítios web dedicados à pornografia infantil e mais de vinte milhões de consumidores, metade deles nos Estados Unidos. O desafio consistia em descobrir os clientes, mas o mais importante era deitar a luva aos produtores. O nome de código que deram ao caso da menina de cabelo muito loiro, com orelhas pontiagudas e uma covinha no queixo, foi Alice. O material era recente. Suspeitavam que Alice podia ser mais velha do que parecia, porque os produtores procuravam fazer com que as suas vítimas aparentassem ser o mais jovens possível, como exigiam os consumidores.
Ao fim de quinze meses de intensa colaboração, Wilkins e os canadianos descobriram o rasto de um dos colecionadores, um cirurgião de Montreal. Revistaram-lhe a casa e a clínica, confiscaram os computadores e deram com mais de seiscentas imagens, entre as quais existiam duas fotografias e um vídeo de Alice. O cirurgião foi preso e aceitou colaborar com as autoridades em troca de uma sentença menos severa. Com a informação e os contatos obtidos, Wilkins pôs-se em ação. O corpulento agente descrevia-se a si mesmo como um sabujo, dizia que uma vez que farejava uma pista, nada conseguia distraí-lo; seguia-a até ao final e não descansava até a encontrar. Fazendo-se passar por um aficionado, descarregou várias fotos de Alice, modificou-as digitalmente para que parecessem originais e não se lhe visse a cara, embora para os entendidos fosse reconhecível, e com elas obteve acesso à rede usada pelo colecionador de Montreal. Rapidamente conseguiu vários interessados. Já tinha a primeira pista, o resto seria uma questão de faro.
Certa noite, em novembro de 2002, Ron Wilkins tocou à campainha de uma casa num bairro modesto ao sul de Dallas e Alice abriu-lhe a porta. Identificou-a imediatamente, era inconfundível. «Venho falar com os teus pais», disse-lhe com um suspiro de alívio, porque não tinha a certeza de que a menina estivesse viva. Era um daqueles períodos benditos em que Jim Robyns estava a trabalhar noutra cidade e a menina encontrava-se sozinha com a mãe. O agente mostrou o seu distintivo do FBI e não esperou ser convidado, empurrou a porta e entrou em casa, diretamente para a sala. Irina recordaria sempre aquele momento como se acabasse de vivê-lo: o gigante negro, o seu cheiro a flores doces, a sua voz profunda e lenta, as suas mãos grandes e finas de palmas cor-de-rosa. «Quantos anos tens?», perguntou-lhe. Radmila ia no segundo vodca e na terceira garrafa de cerveja, porém achava que ainda estava serena e tentou intervir com o argumento de que a filha era menor e as perguntas deviam ser-lhe dirigidas a ela.
Wilkins mandou-a calar com um gesto. «Vou fazer quinze anos», respondeu Alice com um fio de voz, como se tivesse sido apanhada a fazer uma asneira, e o homem estremeceu porque a sua única filha, a luz dos seus olhos, tinha a mesma idade. Alice tivera uma infância de privações, com insuficiência de proteínas, desenvolvera-se tarde e com a sua estatura baixa e os ossos delicados podia facilmente passar por uma menina muito mais nova. Wilkins calculou que se naquele momento Alice parecia ter doze anos, nas primeiras imagens que tinham circulado na internet representaria nove ou dez.
«Deixa-me falar a sós com a tua mãe», pediu Wilkins, envergonhado. Nessa altura Radmila entrara na etapa agressiva da ebriedade e insistiu aos gritos que a filha podia saber fosse o que fosse que o agente tivesse para dizer. «Não é verdade, Elisabeta?» A rapariguinha assentiu como se estivesse hipnotizada, com o olhar fixo na parede.
«Lamento imenso, miúda», disse Wilkins e colocou sobre a mesa meia dúzia de fotografias. Assim enfrentou Radmila aquilo que acontecia na sua própria casa há mais de dois anos e que ela se recusara a ver, e assim Alice teve conhecimento de que milhões de homens em todas as partes do mundo a tinham visto em jogos privados com o seu padrasto. Andava há anos a sentir-se suja, má e culpada; depois de ver as fotografias sobre a mesa só queria morrer. Não havia redenção possível.
Jim Robyns garantira-lhe que aqueles jogos com o pai ou os tios eram normais, que muitos meninos e meninas participavam neles de boa vontade e agradecidos. Essas crianças eram especiais. Mas ninguém falava disso, era um segredo muito bem guardado e ela não devia contá-lo nunca a ninguém, nem às amigas, nem à professora, muito menos ao médico, porque as pessoas iam dizer que era uma pecadora, imunda, acabaria sozinha e sem amigos; até a própria mãe a repudiaria, Radmila era muito ciumenta.
Porque é que resistia? Queria prendas? Não? Bem, então ia pagar-lhe como se ela fosse uma mulherzinha adulta, não diretamente a ela, mas aos avós. Ele mesmo se encarregaria de lhes enviar dinheiro para a Moldávia em nome da neta; ela devia escrever-lhes um postal para acompanhar o dinheiro, mas sem dizer nada a Radmila: isso ia também ser um segredo entre os dois. Às vezes os velhos precisavam de uma remessa extra, tinham de reparar o telhado ou de comprar outra cabra. Não havia problema; ele tinha bom coração, compreendia que a vida era difícil na Moldávia, ainda bem que Elisabeta tivera a sorte de vir para a América; no entanto, não convinha estabelecer o precedente do dinheiro grátis, ela tinha de fazer por ganhá-lo, certo? Devia sorrir, isso não custava nada, devia vestir a roupa que ele exigia, devia submeter-se às cordas e aos ferros, devia beber genebra para relaxar, com sumo de maçã para não lhe queimar a garganta, em breve iria habituar-se ao sabor, queria mais açúcar? Apesar do álcool, das drogas e do medo, em algum momento ela apercebeu-se de que havia câmaras na arrecadação das ferramentas, a «casinha» deles os dois, onde ninguém, nem a sua mãe, podia entrar. Robyns jurou-lhe que as fotos e os vídeos eram privados, pertenciam só a ele, ninguém os veria nunca, ele ia guardá-los de recordação para que o acompanhassem anos mais tarde, quando ela fosse para o college.
Ia ter imensas saudades dela!
A presença daquele negro desconhecido, com as mãos grandes e os olhos tristes e as suas fotografias, eram a prova de que o padrasto tinha mentido. Tudo o que acontecera na casinha circulava na internet e continuaria a circular, não podia ser retirado ou destruído, ia existir para sempre. A cada minuto em alguma parte do mundo alguém estava a violá-la, alguém estava a masturbar-se com o seu sofrimento. Durante o resto da sua vida, onde quer que fosse alguém poderia reconhecê-la.
Não havia como escapar. O horror nunca terminaria. O cheiro a álcool e o sabor a maçã iam sempre levá-la de volta à casinha; ia sempre andar pela rua a olhar por cima do ombro, escondendo-se; ia sentir sempre repugnância em ser tocada.
Nessa noite, depois de Ron Wilkins ir embora, a menina fechou-se no seu quarto, paralisada de terror e de nojo, com a certeza de que quando o padrasto regressasse a mataria, como a avisara que faria se ela revelasse uma única palavra sobre os jogos. Morrer era a sua única saída, mas não às mãos dele, não da forma lenta e atroz que ele descrevia frequentemente, acrescentando sempre novos pormenores.
Entretanto, Radmila emborcou o resto da garrafa de vodca, caiu inconsciente e passou dez horas estendida no chão da cozinha. Quando se recompôs ligeiramente da ressaca desatou às bofetadas à filha, a sedutora, a puta que pervertera o marido. A cena durou pouco, porque por essa altura chegou um carro-patrulha com dois polícias e uma assistente social, enviados por Wilkins. Prenderam a mãe e levaram a menina para um hospital psiquiátrico infantil, enquanto o Tribunal de Família e Menores decidia o que fazer com ela. Não voltaria a ver a mãe nem o padrasto.
Radmila tivera tempo de avisar Robyns de que andavam à sua procura e este fugiu do país; porém, não contava com Ron Wilkins, que passou os quatro anos seguintes à procura dele pelo mundo, até que o encontrou na Jamaica e o devolveu algemado aos Estados Unidos. A sua vítima não teve de o enfrentar no julgamento, porque os advogados recolheram as suas declarações em privado e a juíza isentou-a de se apresentar em tribunal. Foi através dela que a rapariga teve conhecimento de que os avós tinham morrido e que as remessas de dinheiro nunca tinham sido enviadas. Jim Robyns foi condenado a uma pena de dez anos de prisão, sem direito a liberdade condicional.
— Ainda lhe faltam cumprir três anos e dois meses. Quando sair em liberdade vai procurar-me e não vou ter onde me esconder — concluiu Irina.
— Não vais precisar de te esconder. Vai ser-lhe imposta uma ordem de restrição. Se se aproximar de ti, regressará à prisão. Eu vou estar contigo e vou garantir que a ordem vai ser cumprida — replicou Seth.
— Não vês que é impossível, Seth? A qualquer momento alguém do teu círculo, um sócio, um amigo, um cliente, o teu próprio pai, pode reconhecer-me. Neste exato momento estou em milhares de ecrãs.
— Não, Irina. Tu és uma mulher de vinte e seis anos e a que circula na internet é Alice, uma menininha que já não existe. Os pedófilos já não se interessam por ti.
— Estás enganado. Tive de fugir várias vezes de diferentes lugares porque algum desgraçado me persegue. Não serve de nada ir à polícia, não podem impedir que o tipo faça circular as minhas fotos. Pensei que se pintasse o cabelo de preto ou se usasse maquilhagem passava despercebida, mas não deu resultado; tenho um rosto fácil de identificar e não mudou muito ao longo destes anos. Nunca estou tranquila, Seth. Se a tua família me ia rejeitar porque sou pobre e não sou judia, imagina como seria se descobrissem isto?
— Contamos-lhes, Irina. Vai custar-lhes um bocadinho a aceitar, mas julgo que vão acabar por amar-te ainda mais por causa do que tiveste de passar. São muito boas pessoas. Tiveste um tempo para sofrer; agora deve começar o tempo de curar e perdoar.
— Perdoar, Seth?
— Se não o fizeres, o rancor vai destruir-te. Quase todas as feridas se curam com carinho, Irina. Tens de te amar a ti própria e de me amar a mim. Está combinado?
— A Cathy disse o mesmo.
— Dá-lhe ouvidos, essa mulher é muito sábia. Deixa-me ajudar-te. Não sou nenhum sábio, mas sou um bom companheiro e dei-te mostras mais do que suficientes de tenacidade. Nunca me dou por vencido. Tens de te resignar, Irina, não vou deixar-te em paz. Sentes o meu coração? Está a chamar por ti — disse-lhe, pegando-lhe na mão e encostando-a ao seu peito.
— Há mais uma coisa, Seth.
— Ainda há mais?
— Desde que o agente Wilkins me salvou do meu padrasto, ninguém me tocou... sabes o que quero dizer. Tenho estado sozinha e prefiro manter as coisas assim.
— Bem, Irina, isso terá de mudar, mas iremos com calma. O que aconteceu não tem nada a ver com amor e nunca mais vai voltar a acontecer-te. Também não tem nada a ver connosco. Uma vez disseste-me que os idosos fazem amor sem pressas. Não é má ideia. Vamos amar-nos como dois avozinhos, o que é que achas?
— Julgo que não vai funcionar, Seth.
— Então teremos de fazer terapia. Vá lá, mulher, deixa de chorar. Tens fome? Penteia-te um pouco, vamos sair para comer e conversar sobre os pecados da minha avó, isso deixa-nos sempre bem-dispostos.
Tijuana
Nos meses felizes de 1955, em que Alma e Ichimei puderam amar-se livremente no miserável motel de Martínez, ela confessou-lhe que era estéril. Mais do que uma mentira, foi um desejo, uma ilusão. Fê-lo para preservar a espontaneidade entre os lençóis, porque confiava num diafragma para evitar surpresas e porque a menstruação dela fora sempre tão irregular que o ginecologista, onde a tia a levara algumas vezes, lhe diagnosticou quistos nos ovários que afetariam a sua fertilidade. Como tantas outras coisas, Alma adiou a operação, já que a maternidade era a última das suas prioridades. Pensou que não ficaria magicamente grávida naquela etapa da juventude. Esses acidentes aconteciam a mulheres de outra classe, sem educação nem recursos. Não se apercebeu do seu estado até chegar à décima semana, porque não controlava os seus ciclos e, quando soube, confiou na sorte durante mais duas semanas. Talvez fosse um erro de cálculo, pensou; mas se se tratasse do mais temível, com exercício violento resolver-se-ia por si só; começou a ir para todo o lado de bicicleta, a pedalar furiosamente. Verificava constantemente se tinha sangue na sua roupa interior e a sua angústia ia aumentando com os dias, mas continuou a ir aos encontros com Ichimei e a fazer amor com a mesma frenética ansiedade com que pedalava colina acima e colina abaixo.
Finalmente, quando não conseguiu ignorar os seios inchados, os enjoos matinais e os sobressaltos da ansiedade, não recorreu a Ichimei, mas a Nathaniel, como sempre fizera desde que eram crianças. Para não correr o risco de os tios se aperceberem, foi ter com ele ao Gabinete Jurídico Belasco & Belasco, o mesmo escritório na rua Montgomery que existia desde os tempos do patriarca, inaugurado em 1920, com os móveis solenes e as estantes repletas de livros de Direito encadernados em couro verde-escuro, um mausoléu da lei, onde os tapetes persas silenciavam os passos e se falava em sussurros confidenciais.
Nathaniel estava atrás da sua secretária, em mangas de camisa, com a gravata desapertada e o cabelo despenteado, rodeado por pilhas de documentos e livrecos abertos; no entanto, assim que a viu levantou-se imediatamente para a abraçar. Alma escondeu a cara contra o pescoço dele, profundamente aliviada por poder expor o seu drama àquele homem que sempre a ajudara. «Estou grávida», foi tudo o que conseguiu dizer-lhe. Sem a largar, Nathaniel levou-a até ao sofá e sentaram-se um ao lado do outro. Alma falou-lhe do amor, do motel e do facto de a gravidez não ser culpa de Ichimei, mas sua, que se Ichimei soubesse, seguramente insistiria em casar com ela e em assumir a responsabilidade pela criança; porém, ela pensara bem e não tinha coragem para renunciar ao que sempre tivera para se converter na mulher de Ichimei; adorava-o, mas sabia que as dificuldades da pobreza destruiriam o seu amor. Perante a hipótese de escolher entre uma vida de dificuldades econômicas na comunidade japonesa, com a qual não tinha nada em comum, ou permanecer no seu próprio ambiente, fora vencida pelo medo do desconhecido; sentia-se envergonhada pela sua fraqueza, Ichimei merecia amor incondicional, era um homem maravilhoso, um sábio, um santo, uma alma pura, um amante delicado e carinhoso nos braços de quem se sentia abençoada, disse num arrazoado de frases entrecortadas, assoando o nariz para não chorar, tentando manter uma certa dignidade.
Acrescentou que Ichimei vivia num plano espiritual, que ia ser sempre um simples jardineiro em vez de desenvolver o seu enorme talento artístico ou de procurar que o seu viveiro fosse um grande negócio; não faria nada disso, não aspirava a mais, bastava-lhe ganhar o suficiente para viver, não se importava minimamente com a prosperidade ou o êxito, o importante para ele era a meditação e a serenidade, no entanto com isso não se come, e ela não ia formar uma família num casebre de madeira com teto de metal corroído e viver entre agricultores com uma pá nas mãos. «Eu sei, Nathaniel, avisaste-me mil vezes e eu não fiz caso. Tinhas razão, tens sempre razão, vejo agora que não posso casar-me com Ichimei, mas também não posso renunciar a amá-lo, sem ele murcharia como uma planta no deserto, morreria, e de agora em diante terei mais cuidado, vamos tomar precauções, isto não voltará a acontecer, prometo, Nathaniel, juro»; e continuou a falar e a falar sem parar, submersa em desculpas e em culpa. Nathaniel ouviu-a sem a interromper até que ela ficou sem fôlego para continuar a lamentar-se e a sua voz foi-se tornando quase inaudível como um murmúrio.
— Vamos lá ver se eu percebo, Alma. Estás grávida e não pensas dizê-lo a Ichimei... — resumiu Nathaniel.
— Não posso ter um filho sem me casar, Nat. Tens de me ajudar. És a única pessoa a quem posso recorrer.
— Um aborto? É ilegal e perigoso, Alma. Não contes comigo.
— Ouve, Nat. Averiguei bem, é seguro, sem riscos e custará apenas cem dólares, mas tens de me acompanhar porque é em Tijuana.
— Tijuana? O aborto também é ilegal no México, Alma. Isso é uma loucura!
— Aqui é muito mais perigoso, Nat. Lá há muitos médicos que o fazem debaixo do nariz da polícia, ninguém quer saber.
Alma mostrou-lhe um pedaço de papel com um número de telefone e explicou-lhe que já fizera a chamada para falar com um tal Ramón em Tijuana. Atendeu-a um homem com um inglês péssimo, que lhe perguntou quem a enviava e se sabia as condições. Ela deu-lhe o nome do contacto, garantiu-lhe que levaria o dinheiro em espécie e acordaram que dentro de dois dias ele passaria para a ir buscar no carro dele, às três da tarde, numa determinada esquina da cidade.
— Disseste a esse Ramón que irias acompanhada por um advogado? — perguntou Nathaniel, aceitando tacitamente o papel que ela lhe atribuíra.
Partiram no dia seguinte por volta das seis da manhã no Lincoln preto da família, que para uma viagem de quinze horas era mais adequado do que o desportivo de Nathaniel. No início este, furioso e encurralado, guardou um silêncio hostil, com a boca cerrada, e a testa franzida, as mãos encrustadas no volante e o olhar fixo na estrada, mas na primeira vez que Alma lhe pediu que parasse numa estação de serviço de camionistas para ir à casa de banho amoleceu. A jovem esteve na casa de banho durante meia hora e quando ele estava prestes a ir buscá-la, viu-a regressar descomposta ao automóvel.
«Vomito de manhã, Nat, mas depois passa-me», explicou-lhe. No resto do caminho ele tentou distraí-la e acabaram a cantar as canções de Pat Boone que ficam no ouvido, as únicas que conheciam, até que ela, exausta, se encostou a ele, apoiou a cabeça no seu ombro e foi dormitando. Em São Diego pararam num hotel para comer e descansar. O recepcionista deduziu que eram casados e deu-lhes um quarto com cama de casal, onde se deitaram de mão dada, como na infância.
Pela primeira vez em várias semanas, Alma dormiu sem ter pesadelos, enquanto Nathaniel permaneceu acordado até ao amanhecer, a inspirar o cheiro a champô do cabelo da prima, a pensar nos riscos, magoado e nervoso como se fosse ele o pai da criança, a imaginar as repercussões, arrependido por ter aceitado aquela aventura indigna em vez de ter subornado um médico na Califórnia, onde tudo se pode conseguir pelo preço adequado, tal como em Tijuana. Com os primeiros raios de luz do dia a entrar pelas frinchas das cortinas foi vencido pelo cansaço e só acordou eram nove da manhã, quando ouviu os vômitos de Alma na casa de banho. Saíram com tempo suficiente para cruzar a fronteira, com as demoras previsíveis, e chegar ao encontro com Ramón.
O México surgiu ao encontro deles com os lugares-comuns do costume. Nunca tinham estado em Tijuana e esperavam encontrar uma povoação adormecida; no entanto, depararam-se com uma cidade imensa, estridente e colorida, a abarrotar de gente e de trânsito, onde autocarros desengonçados e automóveis modernos rivalizavam com carroças e burros. O comércio oferecia no mesmo local comida mexicana e eletrodomésticos americanos, sapatos e instrumentos musicais, peças mecânicas e móveis, pássaros em gaiolas e tortilhas. O ambiente cheirava a fritangada e a lixo, vibrava com a música popular, os pregadores evangélicos e os comentários de futebol da rádio dos bares e casas de tacos. Tiveram dificuldade em orientar-se: muitas ruas não tinham nome ou número e tinham de perguntar a cada trezentos metros, mas não percebiam as instruções em espanhol, que quase sempre consistiam num gesto vago em qualquer direção e num «é já ao virar da esquina». Cansados, estacionaram o Lincoln próximo de uma bomba de gasolina e continuaram a pé até localizarem a esquina do encontro, que verificaram ser a interseção de quatro ruas muito concorridas. Esperaram de braço dado, perante a curiosidade descarada de um cão solitário e de um grupo de miuditos esfarrapados que pediam esmola.
A única indicação que tinham recebido, para além do nome de uma das ruas que iam dar àquela esquina, era a referência a uma loja de fatos de comunhão e de imagens de virgens e santos católicos, com o incongruente nome de Viva Zapata.
Ao fim de vinte minutos de espera, Nathaniel concluiu que tinham sido enganados e que deviam regressar, mas Alma recordou-lhe que a pontualidade não era uma das características daquele país e entrou em Viva Zapata. Por gestos, pediu um telefone e telefonou para o número de Ramón, que tocou nove vezes até que atendeu uma voz de mulher em espanhol, com quem não conseguiu entender-se. Por volta das quatro da tarde, quando Alma já aceitara ir embora, parou na esquina um Ford de 1949 cor de ervilha, com vidros traseiros escuros, como Ramón tinha descrito. Viram dois homens instalados nos bancos dianteiros, um jovem com marcas de varicela, com rabo de cavalo e frondosas patilhas, que ia ao volante, e outro que saiu para os deixar entrar, porque o carro apenas tinha duas portas. Apresentou-se como Ramón. Tinha trinta e tal anos, bigode estiloso, cabelo lambido penteado para trás, usava camisa branca, calças de ganga e botas de biqueira de salto alto. Os dois estavam a fumar. «O dinheiro», exigiu o do bigode logo que entraram no carro. Nathaniel entregou-o e ele contou-o e meteu-o no bolso. Os homens não trocaram uma única palavra durante o trajeto, que pareceu longo a Alma e a Nathaniel; tinham a certeza de que andavam a dar voltas e mais voltas para os despistarem, era mais uma precaução desnecessária, visto que eles não conheciam a cidade. Alma, agarrada a Nathaniel, pensava em como teria sido aquela situação se estivesse sozinha, enquanto Nathaniel temia que esses homens, que já tinham o dinheiro, pudessem dar-lhes um tiro e atirá-los para um barranco. Não tinham dito a ninguém aonde iam e passariam semanas antes de a família saber o que lhes tinha acontecido.
O Ford parou finalmente e disseram-lhes para esperar, enquanto o jovem das patilhas se dirigia à casa e o outro vigiava o carro. Estavam diante de uma casa de construção barata semelhante a outras na mesma rua, num bairro que pareceu a Nathaniel pobre e sujo, mas não o podia julgar pelos parâmetros de São Francisco. Alguns minutos mais tarde, o jovem voltou. Deram ordens a Nathaniel para sair do carro, revistaram-no de cima a baixo e fizeram tenção de o agarrar por um braço para o conduzirem, mas ele afastou-os com brusquidão e enfrentou-os com um impropério em inglês. Surpreso, Ramón fez-lhe um gesto conciliador. «Calma, camarada, está tudo bem», e riu-se, mostrando dois dentes de ouro. Ofereceu-lhe um cigarro, que Nathaniel aceitou. O outro ajudou Alma a sair do automóvel e entraram na casa, que era um lar modesto de família, com tetos baixos, janelas pequenas, abafado e escuro, e não o antro de foragidos que Nathaniel temia. Na sala estavam crianças estendidas no chão a brincar com soldadinhos de chumbo, havia uma mesa com cadeiras, um sofá coberto por plástico e um pretensioso candeeiro com franjas e um refrigerador ruidoso com um motor de lancha. Saía da cozinha um cheiro a cebola frita, e podiam ver uma mulher vestida de preto a mexer qualquer coisa numa frigideira, que mostrou tão pouca curiosidade em relação aos recém-chegados como as crianças. O jovem indicou uma cadeira a Nathaniel e foi até à cozinha, enquanto Ramón guiava Alma por um curto corredor até um outro quarto com uma manta mexicana pendurada na ombreira a fazer de porta.
— Espere! — deteve-o Nathaniel. — Quem vai fazer-lhe a intervenção?
— Eu — respondeu Ramón, que pelos vistos era o único que falava alguma coisa de inglês.
— Tem alguns conhecimentos de Medicina? — perguntou Nathaniel, observando as mãos de unhas compridas e sujas do homem.
Outra vez o riso simpático e o brilho de ouro, novos gestos tranquilizadores, duas frases arranhadas a explicar que tinha muita experiência e que o assunto ia levar menos de quinze minutos, não há problema nenhum. «Anestesia? Não, mano, aqui não temos nada disso, mas isto ajuda», deu a Alma uma garrafa de tequilla. Como ela hesitou, olhando para a garrafa com desconfiança, Ramón bebeu um grande gole, limpou o gargalo com a mão e voltou a oferecê-la. Nathaniel viu a expressão de pânico no rosto pálido de Alma e numa fração de segundos tomou a decisão mais importante da vida dele.
— Mudamos de ideias, Ramón. Vamos casar-nos e vamos ter o bebé. Pode ficar com o dinheiro.
Alma ia ter pela frente muitos anos para analisar com serenidade os seus atos de 1955. Nesse ano teve consciência da realidade e as tentativas para atenuar a vergonha imensa que a atormentava foram inúteis. A vergonha da irresponsabilidade de ficar grávida de Ichimei, de amar Ichimei menos do que a si mesma, do seu horror à pobreza, de ceder à pressão social e aos preconceitos raciais, de aceitar o sacrifício de Nathaniel, de não se sentir à altura da amazona moderna que fingia ser, do seu carácter pusilânime, convencional e mais meia dúzia de epítetos com os quais se castigava. Tinha consciência de que evitara o aborto por ter medo da dor e de morrer devido a uma hemorragia ou infeção, e não por respeito ao ser que crescia dentro de si. Voltou a observar-se diante do espelho do seu armário, mas não encontrou a Alma de antes, a jovem atrevida e sensual que Ichimei veria se estivesse ali. Viu uma mulher cobarde, volúvel e egoísta. As desculpas eram inúteis, não havia nada que mitigasse a sensação de ter perdido a dignidade. Anos mais tarde, quando amar uma pessoa de outra raça ou ter filhos fora do casamento se tornou moda, Alma ia admitir para si mesma que o seu preconceito mais profundo, e que nunca conseguira ultrapassar, tinha a ver com a classe social.
Apesar do desconforto daquela viagem a Tijuana, que destruiu as suas ilusões acerca do amor e que a humilhou ao ponto de escolher como refúgio o seu monumental orgulho, nunca questionou a sua decisão de não contar a Ichimei. Confessar significaria revelar toda a sua cobardia.
Ao regressar de Tijuana, marcou encontro com Ichimei a uma hora mais cedo do que o costume no hotel de sempre. Apareceu confiante e munida de mentiras, mas a chorar por dentro. Ichimei chegou pela primeira vez antes dela. Estava à sua espera num daqueles quartos rascas, reino de baratas, que eles iluminavam com a chama do amor. Não se viam há cinco dias e há várias semanas que algo estranho perturbava a perfeição dos seus encontros; Ichimei sentia que alguma coisa ameaçadora pairava sobre eles como uma densa neblina, mas ela descartava frivolamente a ideia, acusando-o de estar cego pelos ciúmes. Ichimei percebia algo diferente nela, estava ansiosa, falava excessivamente e muito depressa, de um momento para o outro tinha alterações de humor e passava da ternura e dos mimos a um silêncio estudado ou a uma birra incompreensível. Estava a afastar-se emocionalmente, não tinha dúvida disso, embora a sua brusca paixão e o seu empenho em alcançar o orgasmo uma e outra vez sugerissem o contrário. Às vezes, quando descansavam abraçados depois de fazer amor, ela tinha as faces úmidas. «São lágrimas de amor», dizia, mas a Ichimei, que nunca a vira chorar, pareciam lágrimas de desilusão, tal como as acrobacias sexuais lhe pareciam uma tentativa de o distrair. Com a sua atávica discrição procurou averiguar o que se passava com Alma, mas ela respondia às perguntas com um riso brincalhão ou com provocações de rameira, que, embora fossem uma brincadeira, o deixavam desconfortável. Alma esquivava-se como uma lagartixa: nesses cinco dias de separação, que ela justificou com uma viagem obrigatória a Los Angeles, Ichimei entrou num dos seus períodos de ensimesmamento.
Nessa semana continuou a lavrar a terra e a cultivar flores com a abnegação habitual, mas os seus movimentos eram os de um homem hipnotizado. A mãe, que o conhecia melhor do que ninguém, absteve-se de lhe fazer perguntas e foi ela própria entregar a colheita às lojas de flores de São Francisco. No silêncio e na quietude, inclinado sobre as plantas, com o sol nas costas, Ichimei deixou-se levar pelos seus pressentimentos, que raramente o enganavam.
Alma viu-o à luz daquele quarto de aluguer, suavizada pelas cortinas puídas, e voltou a sentir nas entranhas o desgarre da culpa. Por um instante muito breve odiou aquele homem que a obrigava a confrontar-se com o seu lado mais desprezível, mas de imediato era arrastada por aquela onda de prazer e de desejo que sempre a inundava na presença dele. Ichimei, de pé junto à janela, à espera dela, com a sua inabalável força interior, a sua falta de vaidade, a sua ternura e delicadeza, a sua expressão serena; Ichimei, com o seu corpo de madeira, os seus cabelos espessos, os seus dedos verdes, os seus olhos carinhosos, o riso que brotava do seu interior, a sua forma de fazer amor como se fosse a última vez. Não conseguiu olhá-lo nos olhos e fingiu ter um ataque de tosse para disfarçar a angústia que a queimava por dentro. «O que se passa, Alma?», perguntou Ichimei, sem lhe tocar. E então ela despejou o discurso que preparara com o esmero de uma rábula sobre como o amava e o amaria o resto dos seus dias, embora aquela relação não tivesse futuro, porque era impossível, e a família e os amigos começavam a suspeitar e a fazer perguntas, eles pertenciam a mundos muito diferentes e cada um tinha de aceitar o seu destino; ela decidira prosseguir os estudos de arte em Londres e por isso teriam de se separar.
Ichimei recebeu a rejeição com a integridade de quem se preparara para aquilo.
Às palavras de Alma seguiu-se um prolongado silêncio e ela imaginou que poderiam fazer amor desesperadamente mais uma vez, uma despedida ardente, um último regalo para os sentidos antes de aplicar o golpe fatal à ilusão que cultivara desde as carícias desajeitadas no jardim de Sea Cliff na infância. Começou a desabotoar a blusa, mas Ichimei impediu-a com um gesto.
— Compreendo, Alma — disse.
— Desculpa, Ichimei. Imaginei mil loucuras para continuarmos juntos; por exemplo, encontrarmos um refúgio onde pudéssemos amar-nos, para substituir este hotel asqueroso, mas sei que é impossível. Já não aguento mais este segredo, está a dar- me cabo dos nervos. Temos de nos separar para sempre.
— Para sempre é muito tempo, Alma. Creio que voltaremos a encontrar-nos em circunstâncias mais adequadas ou noutras vidas — disse Ichimei, procurando manter a sua serenidade, mas uma tristeza gelada transbordou do seu coração, quebrando-lhe a voz.
Abraçaram-se desamparados, órfãos de amor. Os joelhos de Alma dobraram-se e esteve prestes a cair em cima do peito firme do amante, de lhe confessar tudo, até ao mais ínfimo da sua vergonha, de lhe suplicar que casassem e vivessem numa barraca e criassem os filhos mestiços e de lhe prometer que seria uma esposa submissa e que renunciaria às suas pinturas em seda e ao conforto de Sea Cliff e ao futuro promissor a que tinha direito por nascimento, renunciaria a muito mais só por ele e pelo amor excecional que os unia. Provavelmente Ichimei adivinhou tudo aquilo e teve a bondade de impedir que se mortificasse ainda mais, tapando-lhe a boca com um beijo casto e breve. Sem deixar de a agarrar, conduziu-a à porta e de lá até ao automóvel. Beijou-a uma vez mais na testa e dirigiu-se para a sua carrinha de jardinagem, sem se voltar para trás para um último olhar.
Os melhores amigos
Alma Mendel e Nathaniel Belasco casaram-se numa cerimônia privada no pátio de Sea Cliff, num dia que começou ensolarado com uma temperatura agradável e foi arrefecendo e escurecendo com inesperadas nuvens negras que refletiam o estado de ânimo dos noivos. Alma tinha olheiras cor de berinjela, passara a noite em branco, debatendo-se num mar de dúvidas, e assim que viu o rabino correu para a casa de banho, apavorada de medo, mas Nathaniel fechou-se com ela, obrigou-a a lavar a cara com água fria e instigou-a a controlar-se e a mostrar boa cara. «Não estás sozinha nisto, Alma. Eu estou contigo e estarei sempre», prometeu-lhe. O rabino, que no início se opusera ao casamento porque eram primos, foi obrigado a aceitar a situação quando Isaac Belasco, o mais proeminente membro da sua congregação, lhe explicou que, dado o estado de Alma, não havia outro remédio senão casá-los. Disse-lhe que aqueles jovens gostavam um do outro desde crianças e que o afeto se transformara em paixão quando Alma regressou de Boston, esses percalços aconteciam, faziam parte da condição humana, e perante o facto consumado a única solução era abençoá-los. Martha e Sarah lembraram- se que podiam contar alguma história para calar os rumores, por exemplo, que Alma fora adotada na Polônia pelos Mendel e por isso não era parente consanguínea, mas Isaac opôs-se.
Ao erro cometido não podiam acrescentar uma mentira tão grosseira. No fundo, sentia-se feliz com a união das duas pessoas que mais amava no mundo. Preferia mil vezes que Alma se casasse com Nathaniel e ficasse firmemente ligada à sua família do que se juntasse a um estranho e saísse do seu lado. Lillian lembrou-lhe que das uniões incestuosas nasciam filhos loucos, porém ele garantiu-lhe que isso era uma superstição popular e só tinha fundamentação científica nas sociedades fechadas, onde a procriação consanguínea se repetia durante várias gerações. Esse não era o caso de Nathaniel e de Alma.
Após a cerimônia, a que apenas assistiram a família, o contabilista do Escritório de Advocacia e os empregados da casa, foi servido um jantar formal a todos os presentes na grande sala de jantar da mansão, que apenas era utilizada em ocasiões importantes. A cozinheira, a sua ajudante, as criadas e o motorista sentaram-se timidamente à mesa com os patrões, atendidos pelos empregados do Ernie’s, o restaurante mais elegante da cidade, que serviu a comida. Foi Isaac que se lembrou dessa novidade para tornar oficial o facto de que a partir daquele momento Alma e Nathaniel eram esposos. Para os empregados domésticos, que os conheciam como membros da mesma família, não seria fácil habituarem-se à mudança; na verdade, existia uma criada a trabalhar com os Belasco que pensava que eram irmãos, porque até esse dia ninguém se tinha lembrado de lhe dizer que eram primos. O jantar começou com um silêncio fúnebre, os olhos postos nos pratos, todos desconfortáveis, no entanto, à medida que se ia escanceando o vinho e Isaac obrigava os comensais a brindar pelo casal, foi ficando mais animado. Alegre, expansivo, enchendo o seu copo e o dos outros, Isaac parecia uma réplica saudável e juvenil do ancião em que se transformara nos últimos anos. Lillian, preocupada, dava-lhe puxões nas calças por baixo da mesa para que se acalmasse. Por último, os noivos cortaram um bolo de creme e maçapão com a mesma faca de prata com que Isaac e Lillian tinham partido um semelhante no seu próprio casamento, muitos anos antes.
Despediram-se de todos um a um e partiram de táxi, porque o motorista bebera tanto que choramingava na sua cadeira falando em gaélico, a sua língua materna.
Passaram a primeira noite de casados na suite nupcial do hotel Palace, o mesmo onde Alma sofrera com os bailes de debutantes, com champanhe, bombons e flores. No dia seguinte voariam até Nova Iorque e de lá até à Europa durante duas semanas, uma viagem imposta por Isaac Belasco que nenhum dos dois desejava. Nathaniel tinha vários casos legais entre mãos e não queria deixar o escritório, mas o pai comprou dois bilhetes, meteu-os no bolso e convenceu-o a partir com o argumento de que a lua de mel era um requisito tradicional; já circulavam comentários suficientes sobre aquele casamento precipitado entre primos para se lhe acrescentar ainda mais um. Alma despiu-se na casa de banho e regressou ao quarto com a camisa e o robe de seda e renda, que Lillian comprara com urgência junto com o resto de um improvisado enxoval de casamento. Deu uma volta teatral para se insinuar frente a Nathaniel, que a esperava vestido, sentado numa banqueta aos pés da cama.
— Olha com atenção, Nat, porque não terás outra oportunidade para me admirar. A camisa já me está justa na cintura. Julgo que não vou poder usá-la outra vez.
O marido notou o tremor na voz, que o comentário coquete não conseguiu dissimular, e chamou-a com uma palmada no assento. Alma sentou-se ao lado dele.
— Não tenho ilusões, Alma, sei que amas Ichimei.
— Também gosto de ti, Nat, não consigo explicá-lo. Existem com certeza uma dezena de mulheres na tua vida, não percebo porque nunca me apresentaste nenhuma. Uma vez disseste-me que, quando te apaixonasses, eu ia ser a primeira a saber.
Depois de o bebé nascer divorciamo-nos e serás livre.
— Não renunciei a um grande amor por ti, Alma. E parece-me de muito mau gosto que me proponhas o divórcio na nossa primeira noite de casados.
— Não gozes, Nat. Diz-me a verdade, sentes alguma atração por mim? Como mulher, quero eu dizer.
— Até agora sempre olhei para ti como a minha irmã mais nova, mas isso poderia mudar com a convivência. Gostavas que acontecesse?
— Não sei. Sinto-me confusa, triste, irritada, tenho um nó na cabeça e uma criança na barriga. Fizeste um péssimo negócio ao casar comigo.
— Isso ainda vamos ver, mas quero que saibas que serei um bom pai para o menino ou a menina.
— Vai ter traços asiáticos, Nat. Que explicação vamos dar?
— Não vamos dar explicações e ninguém se atreverá a pedi-las, Alma. A cabeça erguida e os lábios selados é a melhor tática. A única pessoa que terá direito a fazer perguntas será Ichimei Fukuda.
— Não voltarei a vê-lo, Nat. Obrigada. Mil vezes obrigada pelo que estás a fazer por mim. És a pessoa mais nobre do mundo e tentarei ser uma esposa digna de ti. Há uns dias pensava que ia morrer sem Ichimei, porém agora creio que com a tua ajuda viverei. Não vou enganar-te. Ser-te-ei sempre fiel, juro.
— Pssst, Alma. Não façamos promessas que podemos não conseguir cumprir. Vamos percorrer este caminho juntos, passo a passo, dia a dia, com a melhor intenção. Isso é a única coisa que podemos prometer um ao outro.
Isaac Belasco recusara completamente a ideia de que os recém-casados tivessem o seu próprio lar, já que em Sea Cliff havia espaço mais do que suficiente e a sua intenção ao construir uma casa daquela dimensão sempre fora que várias gerações da família estivessem debaixo do mesmo teto.
Além disso, Alma precisava de cuidados e precisaria da atenção e da companhia de Lillian e das suas primas; montar e gerir uma casa exigia um esforço desnecessário, determinou. Como argumento irrefutável utilizou a chantagem sentimental: desejava passar junto a eles o pouco tempo de vida que lhe restava e queria que depois acompanhassem Lillian durante a viuvez. Nathaniel e Alma aceitaram a decisão do patriarca; ela continuou a dormir no seu quarto azul, onde a única alteração efetuada foi a troca da cama dela por duas, separadas por uma mesa de cabeceira, e Nathaniel colocou à venda a sua penthouse e regressou à casa paterna. No seu quarto de solteiro instalou uma escrivaninha, os seus livros, a sua música e um sofá. Toda a gente sabia que os horários do casal não propiciavam a intimidade: ela levantava-se ao meio-dia e deitava- se cedo, ele trabalhava como um condenado, chegava tarde do escritório, fechava-se com os seus livros e os seus discos de música clássica, deitava-se depois da meia-noite, dormia muito pouco e saía antes de ela acordar; aos fins de semana jogava tênis, subia a correr o monte Tamalpis, ia dar umas voltas pela baía com o seu veleiro e regressava queimado pelo sol, a suar e apaziguado. Tinham também notado que ele costumava dormir no sofá do escritório, mas atribuíram isso ao facto de a mulher necessitar de descanso. Nathaniel era tão atencioso com Alma, ela era tão dependente dele e existia tanta confiança e bom ambiente entre eles que só Lillian suspeitava de alguma anormalidade.
— Como é que vão as coisas entre ti e o meu filho? — perguntou a Alma na segunda semana após tê-los em casa, depois da lua de mel, quando a gravidez já ia no quarto mês.
— Porque pergunta, tia Lillian?
— Porque vocês gostam um do outro da mesma forma que antes, nada mudou. O casamento sem paixão é como a comida sem sal.
— Quer que façamos demonstrações da nossa paixão em público? — riu-se Alma.
— O meu amor com Isaac é a coisa mais preciosa que tenho, Alma, mais dos que os filhos e os netos. Desejo-vos o mesmo: que vivam apaixonados, como Isaac e eu.
— O que é que a faz crer que não estejamos apaixonados, tia Lillian? — Estás no melhor momento da tua gravidez, Alma. Entre o quarto e o sétimo mês a mulher sente-se forte, cheia de energia e sensualidade. Ninguém fala sobre isso, os médicos não o mencionam, mas é como estar com o cio. Foi sempre assim quando eu estava à espera dos meus três filhos: passava o tempo a perseguir o Isaac. Era um alvoroço! Não vejo esse entusiasmo entre ti e o Nathaniel.
— Como pode saber o que se passa connosco à porta fechada?
— Não me respondas com perguntas, Alma!
Do outro lado da baía de São Francisco, Ichimei andava imerso num prolongado mutismo, distraído com os remordimentos do amor traído. Embrenhou-se no trabalho com as flores, que brotavam mais coloridas e perfumadas do que nunca para o consolar. Teve conhecimento do casamento de Alma porque Megumi estava a folhear uma revista de futilidades no cabeleireiro e na secção de vida social viu uma fotografia de Alma e Nathaniel Belasco vestidos de gala, a presidir ao banquete anual da fundação da família. A legenda da foto referia que tinham regressado recentemente da sua lua de mel em Itália e descrevia a magnífica festa e o elegante vestido de Alma, inspirado nas túnicas drapeadas da Grécia antiga. De acordo com a revista, eram o casal mais célebre do ano. Sem suspeitar que ia cravar um punhal no peito do irmão, Megumi recortou a página e levou-a. Ichimei observou-a sem manifestar nenhuma emoção.
Andava a várias semanas a tentar em vão perceber o que acontecera durante aqueles meses com Alma no motel dos amores excessivos. Acreditava ter vivenciado algo absolutamente extraordinário, uma paixão digna da literatura, o reencontro de duas almas destinadas a estar juntas uma e outra vez através do tempo, mas enquanto ele abraçava essa magnífica certeza, ela planeava casar-se com outro. A traição era de tal modo imensa que não lhe cabia dentro do peito, e sentia dificuldade em respirar. No meio a que Alma e Nathaniel Belasco pertenciam, o casamento era mais do que uma união entre dois indivíduos, era uma estratégia social, econômica e de família. Era impossível que Alma tivesse tratado dos preparativos sem deixar transparecer a mais ínfima das suas intenções; a evidência estava ali e ele, cego e surdo, não a vira. Agora conseguia juntar os pontos e explicar as incoerências de Alma nos últimos tempos, o seu temperamento errático, as suas hesitações, os seus artifícios para fugir às perguntas, as suas sinuosas artimanhas para o distrair, os seus contorcionismos para fazer amor sem o olhar nos olhos. A falsidade era tão completa, a rede de mentiras tão intrincada e tortuosa, os danos sofridos tão irreparáveis que só lhe restava concluir que não conhecia Alma de modo algum, era uma estranha. A mulher amada nunca existira, era uma construção dos seus sonhos.
Cansada de ver o filho de espírito ausente como um sonâmbulo, Heideko Fukuda decidiu que chegara a hora de o levar ao Japão em busca das suas raízes e, com um pouco de sorte, encontrar-lhe uma noiva. A viagem ia ajudá-lo a libertar-se da tristeza que o esmagava, cuja causa nem ela nem Megumi haviam conseguido descobrir. Ichimei era muito jovem para criar uma família, mas possuía a maturidade de um ancião; era conveniente intervir o mais depressa possível para escolher a futura nora, antes que o pernicioso costume americano de casamento por compatibilidade amorosa se apoderasse do filho.
Megumi estava completamente empenhada nos seus estudos, mas aceitou supervisionar dois compatriotas contratados para gerir o negócio das flores durante a viagem. Lembrou-se de pedir a Boyd Anderson, como prova definitiva do seu amor, para deixar tudo no Havaí e mudar-se para Martínez para cultivar flores, mas Heideko continuava a recusar-se a pronunciar o nome do persistente apaixonado e referia-se a ele como o guarda do campo de concentração. Tiveram ainda de passar mais cinco anos, até nascer o seu primeiro neto, Charles Anderson, filho de Megumi e Boyd, para ela dirigir a palavra ao demônio branco. Heideko organizou a viagem sem perguntar a opinião a Ichimei. Comunicou-lhe que deviam cumprir com o dever inultrapassável de honrar os antepassados de Takao, como ela lhe prometera na sua agonia, para que pudesse partir tranquilamente. Em vida, Takao não o pudera fazer e agora aquela peregrinação era da responsabilidade deles. Tinham de visitar cem templos para fazer oferendas e espalhar um pouco das cinzas de Takao em cada um deles. Ichimei apresentou uma oposição meramente retórica, porque no fundo para ele estar aqui ou ali era a mesma coisa; o lugar geográfico não iria afetar o processo de limpeza interior em que estava imerso.
No Japão, Heideko comunicou ao filho que o seu primeiro dever não era para com o seu defunto esposo, mas para com os seus envelhecidos pais, no caso de ainda estarem vivos, e para com os seus irmãos, que não via desde 1922. Não convidou Ichimei para a acompanhar. Despediu-se com brevidade, como se fosse às compras, sem se preocupar como iria entretanto o filho desenvencilhar-se. Ichimei havia entregado à mãe todo o dinheiro que levava. Viu-a partir no comboio e, abandonando a mala na estação, começou a andar com o que levava vestido, uma escova de dentes e o saco de plástico com as cinzas do pai. Não precisava de mapa, porque memorizara o seu itinerário. Caminhou durante todo o primeiro dia com o estômago vazio e ao anoitecer chegou a um pequeno santuário xintoísta, onde se deitou junto a uma parede.
Estava prestes a adormecer, quando um monge mendicante se aproximou dele e o informou de que no santuário havia sempre chá com biscoitos de arroz para os peregrinos. Assim seria a sua vida nos quatro meses seguintes. Caminhava durante o dia até ser vencido pela fadiga, jejuava até que alguém lhe oferecia algo para comer, dormia onde caísse a noite. Nunca teve de pedir, nunca precisou de dinheiro. Ia com a mente em branco, deleitando-se com a paisagem e com a própria fadiga, enquanto o esforço de avançar lhe ia arrancando às dentadas as más lembranças de Alma. Quando deu por concluída a sua missão de visitar cem templos, o saco de plástico estava vazio e ele despojara-se dos sentimentos obscuros que o angustiavam no começo da viagem.
2 de agosto de 1994
“Viver na incerteza, sem segurança, sem planos nem metas a alcançar, deixando-me levar como uma ave empurrada pela brisa, isso fui aprendendo nas minhas peregrinações. Achas estranho que aos setenta e dois anos ainda possa partir de um dia para o outro e vaguear sem destino nem bagagem, como um jovem à boleia, que esteja ausente durante um tempo indefinido e que não te telefone nem te escreva, que ao regressar não possa dizer-te onde estive. Não há nenhum segredo, Alma. Caminho, é simplesmente isso. Para sobreviver preciso de muito pouco, de quase nada. Ah, de liberdade!
Vou partir, mas levo-te sempre na minha mente.”
Ichi
Outono
Após Alma faltar dois dias consecutivos ao seu encontro no banco do parque, Lenny Beal foi procurá-la ao apartamento dela. Quem lhe abriu a porta foi Irina, que a fora ajudar a vestir-se antes de começar o seu trabalho na Lark House.
— Estive à tua espera, Alma. Estás atrasada — disse Lenny.
— A vida é muito curta para sermos pontuais — respondeu ela com um suspiro. Há vários dias que Irina chegava mais cedo para lhe dar o pequeno-almoço, vigiá-la no duche e ajudá-la a vestir-se, mas nenhuma delas o comentava, porque isso seria admitir que Alma começava a não ter condições para continuar a viver sem assistência e deveria passar para o segundo nível ou regressar a Sea Cliff para junto da família. Preferiam pensar naquela súbita debilidade como um impedimento temporário. Seth pedira a Irina que renunciasse ao trabalho dela na Lark House, que deixasse o seu quarto, a que chamava ninho de ratos, e fosse definitivamente viver com ele. No entanto, ela mantinha um pé em Berkeley para evitar a armadilha da dependência, que a assustava tanto como a passagem para o segundo nível da Lark House assustava Alma. Quando tentou explicá-lo a Seth, ele ficou ofendido com a comparação.
A ausência de Neko afetara Alma como se de um enfarte se tratasse: doía-lhe o peito. O gato aparecia-lhe constantemente na forma de uma almofada no sofá, na esquina enrugada da carpete, no seu sobretudo mal pendurado, na sombra da árvore na janela.
Neko foi o seu confidente durante dezoito anos. Para não falar sozinha, falava com ele, com a certeza de que o gato não lhe daria resposta e que compreendia tudo com a sua felina sabedoria. Possuíam um temperamento semelhante: vaidosos, preguiçosos, solitários. Não amava só a sua fealdade de animal comum como também as mazelas do tempo que sofrera: as peladas na pele, a cauda retorcida, os olhos remelentos, a sua pança de boa vida. Sentia a sua falta na cama: sem o peso de Neko nas suas costas ou nos seus pés tinha dificuldade em adormecer. À exceção de Kirsten, aquele animal era o único ser que a acariciava. Irina sentia vontade de o fazer, dar-lhe uma massagem, lavar- lhe o cabelo, limar-lhe as unhas, enfim, encontrar uma forma de se aproximar de Alma fisicamente e de a fazer sentir que não estava sozinha, mas a mulher não propiciava a intimidade com ninguém. Para Irina era natural esse tipo de intimidade com outras anciãs da Lark House, e aos poucos começava a desejar tê-lo com Seth. Tentou atenuar a ausência de Neko com um saco de água quente na cama de Alma, porém como esse recurso agravava a dor, ofereceu-se para ir à Sociedade Protetora dos Animais para arranjar outro gato. Alma fê-la ver que não podia adotar um animal que ia viver mais do que ela. Neko fora o seu último gato.
Naquele dia Sofia, a cadela de Lenny, esperava na soleira como fazia habitualmente quando Neko estava vivo e defendia o seu território, batendo no chão com a cauda perante a perspetiva de ir passear, mas Alma estava esgotada devido ao esforço em vestir-se e não conseguiu levantar-se do sofá. «Deixo-a em boas mãos, Alma», despedira-se Irina. Lenny, preocupado, notou as mudanças no aspeto dela e no do apartamento, que não tinha sido arejado e cheirava a mofo e a gardênias agonizantes.
— O que se passa contigo, minha amiga?
— Não é nada de grave. Devo ter um problema no ouvido e por isso perco o equilíbrio. Às vezes sinto trompázios de elefante no peito.
— O que diz o teu médico?
— Não quero médicos, nem análises nem hospitais. Quando começamos com isso, nunca mais daí saímos. E nada de Belascos! São muito melodramáticos e arranjavam já uma confusão.
— Nem penses morrer antes de mim. Lembra-te daquilo que combinamos, Alma. Eu vim para cá para morrer nos teus braços e não o contrário — brincou Lenny.
— Não me esqueci. Mas se eu não cumprir a minha promessa, podes recorrer a Cathy.
Aquela amizade, descoberta tarde e saboreada como um vinho de reserva, enchia de colorido uma realidade que inexoravelmente ia perdendo o brilho para ambos. Alma tinha um temperamento tão solitário que nunca se apercebeu da sua solidão. Vivera integrada na família Belasco, protegida pelos tios, na ampla casa de Sea Cliff, que outros dirigiam — a sua sogra, o mordomo, a sua nora — com a atitude de uma visita. Sentia-se desligada e diferente em todos os lugares, mas, longe de ser um problema, isso era motivo de certo orgulho, porque contribuía para a sua ideia de si mesma como uma artista reservada e misteriosa, vagamente superior ao resto dos mortais. Não lhe fazia falta confundir-se com a humanidade em geral, que na verdade considerava estúpida, cruel, se surgisse a oportunidade, e na melhor das hipóteses sentimental, opiniões que se abstinha de expressar em público, mas que a velhice tinha fortalecido. Fazendo bem as contas, ao longo dos seus mais de oitenta anos amara muito poucas pessoas, embora o tivesse feito intensamente, idealizara-as com um romantismo feroz que desafiava qualquer confronto com a realidade.
Não sofreu aquelas paixões devastadoras da infância e da adolescência, passou pela universidade isolada, viajou e trabalhou sozinha, não teve sócios ou companheiros, apenas subordinados; substituiu tudo isso pelo amor obsessivo por Ichimei Fukuda e pela amizade exclusivista com Nathaniel Belasco, que recordava como o seu amigo mais íntimo e não como marido. Na última etapa da sua vida contava com Ichimei, o seu amante lendário, com o neto Seth e com Irina, Lenny e Cathy, o mais parecido com amigos que tivera em muitos anos; graças a eles estava a salvo do tédio, um dos flagelos da velhice. O resto da comunidade da Lark House era como a paisagem da baía: apreciava-a de longe, sem molhar os pés. Durante meio século fizera parte do pequeno mundo da classe alta de São Francisco, aparecia na ópera, nos eventos de caridade e em acontecimentos sociais obrigatórios, resguardada pela intransponível distância que estabelecia desde o primeiro instante. Comentou com Lenny que o ruído a incomodava, as conversas triviais e as peculiaridades do próximo; só uma difusa empatia pela humanidade doente a salvava de ser uma psicopata. Era fácil sentir compaixão por aqueles infelizes que não conhecia. Não gostava de pessoas, preferia os gatos. Digeria os humanos em pequenas doses, mais de três provocavam-lhe indigestão. Evitara sempre os grupos, os clubes e os partidos políticos, nunca fora militante de nenhuma causa, ainda que as defendesse como princípio, como o feminismo, os direitos civis ou a paz. «Não vou para rua defender baleias para não me misturar com os ecologistas», dizia. Nunca se sacrificou por uma pessoa ou por um ideal, a abnegação não era uma das suas virtudes. À exceção de Nathaniel, durante a sua doença, nunca teve de cuidar de ninguém, nem sequer do filho. A maternidade não foi esse vendaval de adoração e ansiedade que supostamente as mães experienciam, mas um carinho agradável e linear. Larry era uma presença sólida e incondicional na sua existência, amava-o com uma combinação de confiança absoluta e costume enraizado, um sentimento tranquilo que exigia muito pouco da sua parte.
Admirara e amara Isaac e Lillian Belasco, a quem continuou a chamar tio e tia depois de se converterem em seus sogros, mas não foi contagiada pelo menor resquício da sua bondade e vocação para servir os outros.
— Felizmente a Fundação Belasco dedica-se a plantar áreas verdes e não a socorrer mendigos ou órfãos, assim pude fazer algum bem sem me aproximar dos beneficiários — disse a Lenny.
— Cala-te, mulher. Se não te conhecesse, pensaria que eras um monstro narcisista.
— Se não o sou, é graças a Ichimei e a Nathaniel, que me ensinaram a dar e a receber. Sem eles, teria sucumbido à indiferença.
— Muitos artistas são pessoas introvertidas, Alma. Têm de se abstrair para criarem — disse Lenny.
— Não arranjes desculpas. A verdade é que, quanto mais velha sou, mais gosto dos meus defeitos. A velhice é o melhor momento para se ser e para se fazer aquilo que nos apetece. Em breve ninguém me suportará. Diz-me, Lenny, arrependes-te de alguma coisa?
— Evidentemente que sim. Das loucuras que não fiz, de ter deixado os cigarros e as margaritas, de ser vegetariano e de me ter matado a fazer exercício. Vou morrer na mesma, mas em boa forma — riu-se Lenny.
— Não quero que morras...
— Eu também não, mas não se pode escolher.
— Quando te conheci, emborcavas como um cossaco.
— Estou sóbrio há trinta anos. Julgo que bebia tanto para não pensar. Era hiperativo, só conseguia estar sentado para cortar as unhas dos pés. Quando era jovem era um animal gregário, sempre rodeado de ruído e de pessoas, mas mesmo assim sentia-me sozinho.
O medo da solidão moldou a minha personalidade, Alma. Precisava de ser aceite e amado.
— Falas no passado. Já não és assim?
— Eu mudei. Passei a juventude à procura de aprovação e de aventuras, até que me apaixonei a sério. Depois meu coração se partiu e passei uma década recompondo os pedaços.
— Conseguiste?
— Podemos dizer que sim, graças a um smogasbord de psicologia: terapia individual, de grupo, gestalt, biodinâmica, enfim, o que estivesse à mão, inclusive terapia do grito.
— Que raio é isso?
— Fechava-me com a psicóloga a gritar como um possesso e a dar murros num almofadão durante cinquenta e cinco minutos.
— Não acredito em ti.
— É verdade. E pagava por isso, imagina tu. Fiz terapia durante vários anos. Foi um caminho pedregoso, Alma, mas aprendi a conhecer-me e a enfrentar a minha solidão. Já não me assusta.
— Um pouco disso ter-nos-ia ajudado muito, ao Nathaniel e a mim, mas não nos ocorreu. No nosso meio não se usava. Quando a psicologia ficou na moda já era tarde para nós.
Pouco tempo depois, deixaram de chegar as caixas de gardênias anônimas que Alma recebia às segundas-feiras, precisamente quando estas a teriam deixado mais alegre; porém, ela não deu sinais de se ter apercebido. Desde a sua última escapadela, saía muito pouco. Se não fossem Irina, Seth, Lenny e Cathy, que a obrigavam a sacudir a imobilidade, ter-se-ia recluído como uma eremita. Perdeu o interesse pela leitura, pelas séries de televisão, pelo yoga e pelo horto de Víctor Vikashev e outros pequenos afazeres que preenchiam as suas horas. Comia sem apetite e, se Irina não estivesse atenta, teria passado vários dias a maçãs e chá.
Não disse a ninguém que o seu coração tinha frequentemente arritmias, nem que ficava com a vista nublada e se sentia confusa com as tarefas mais simples. A casa, que antes era perfeita como uma luva para as suas necessidades, aumentou de tamanho, a disposição dos espaços alterou-se e quando julgava estar diante da casa de banho saía para o corredor do edifício, que se tornara mais comprido e confuso e por isso agora sentia dificuldade em encontrar a sua própria porta, eram todas iguais; o chão ondulava e tinha de se apoiar nas paredes para se manter em pé; os interruptores de luz mudavam de sítio e não os conseguia encontrar na escuridão; surgiam novas gavetas e prateleiras, onde se perdiam os objetos do quotidiano; as fotografias ficavam desorganizadas nos álbuns sem intervenção humana. Não conseguia encontrar nada, a empregada de limpeza e Irina escondiam-lhe as coisas.
Estava consciente de que o universo dificilmente lhe estaria a pregar partidas; o mais provável era que tivesse falta de oxigênio no cérebro. Aproximava-se da janela para fazer os exercícios respiratórios de acordo com um manual que trouxera da biblioteca, mas adiava a consulta ao cardiologista recomendada por Cathy, porque se mantinha fiel à sua crença de que, com o tempo, quase todos os achaques se curam sozinhos.
Ia fazer oitenta e dois anos, estava velha, mas recusava-se a transpor o limiar da velhice. Não pensava sentar-se à sombra dos anos com o olhar fixo no vazio e a mente num passado hipotético. Caíra duas vezes, sem consequências mais graves do que umas pisaduras; chegara a hora de aceitar que às vezes lhe segurassem o cotovelo para a ajudar a caminhar, mas alimentava com migalhas os resquícios de vaidade e lutava contra a tentação de se abandonar à preguiça fácil. Sentia-se horrorizada com a possibilidade de passar para o segundo nível, onde deixaria de ter privacidade e onde teria cuidadores mercenários a assisti-la nas suas necessidades mais pessoais.
«Boa noite, Morte», dizia antes de adormecer, com a vaga esperança de não acordar; seria a forma mais elegante de partir, apenas comparável a adormecer para sempre nos braços de Ichimei depois de terem feito amor. Na realidade não acreditava que merecesse essa dádiva; tivera uma boa vida, não havia nenhuma razão para que o seu fim também o fosse. Perdera o medo da morte trinta anos antes, quando esta chegou como uma amiga para levar Nathaniel. Ela própria a chamara e lho entregara nos braços. Não falava disso com Seth, porque a acusaria de morbidez, mas com Lenny era um assunto frequente; passavam tempos infinitos a especular sobre as possibilidades do outro lado, a eternidade do espírito e os inofensivos espectros que os acompanhavam. Com Irina podia falar de tudo, a rapariga sabia ouvir, no entanto na idade dela ainda tinha a ilusão da imortalidade e não conseguia compreender completamente os sentimentos de quem já percorrera quase todo o seu caminho. A rapariga não era capaz de imaginar a coragem que é necessária para se envelhecer sem ter demasiado medo; o seu conhecimento acerca da idade era teórico. Era igualmente teórico o que se publicava sobre a chamada terceira idade, todos esses livrecos sabichões e manuais de autoajuda da biblioteca, escritos por gente que não era idosa. Até mesmo as psicólogas da Lark House eram jovens. O que é que elas sabiam, por muitos diplomas que tivessem, sobre tudo o que se perde? Faculdades, energia, independência, lugares, pessoas. Embora na verdade, ela não sentisse saudade das pessoas, apenas de Nathaniel. À sua família via o suficiente e agradecia que não a visitassem demasiadas vezes. A nora era de opinião que a Lark House era um depósito de anciãos comunistas e consumidores de erva. Preferia contactá-los por telefone e vê-los no terreno mais agradável de Sea Cliff ou dos passeios, quando decidiam levá-la. Não podia queixar-se, a sua pequena família composta apenas por Larry, Doris, Paulina e Seth nunca a abandonara.
Ela não fazia parte da classe dos velhos abandonados, como tantos outros que a rodeavam na Lark House.
Não pôde continuar a adiar a decisão de encerrar o atelier de pintura que fora mantendo por causa de Kirsten. Explicou a Seth que a sua assistente tinha algumas limitações intelectuais, mas trabalhara com ela durante muitos anos, aquele era o único emprego que Kirsten tivera em toda a sua vida e sempre cumprira com os seus deveres de forma irrepreensível. «Tenho o dever de a proteger, Seth, é o mínimo que posso fazer por ela, no entanto não me sinto com forças para gerir todos os pormenores, isso vai ser responsabilidade tua, é para isso que és advogado», disse. Kirsten possuía um seguro, a sua pensão e algumas poupanças; Alma abrira-lhe uma conta e fora-lhe depositando todos os meses uma quantia para um imprevisto, mas não ocorrera nenhum e esses fundos estavam bem investidos. Seth chegou a um acordo com o irmão de Kirsten para lhe garantir o bem-estar econômico e com Hans Voigt para que contratasse Kirsten como ajudante de Catherine Hope na clínica da dor. As dúvidas do diretor em contratar uma pessoa com síndroma de Down dissiparam-se assim que foi informado de que não teria de lhe pagar o ordenado; Kirsten teria uma bolsa atribuída pelos Belasco.
Gardênias
Após duas segundas-feiras sem gardênias, Seth veio fazer uma visita trazendo três dessas flores dentro de uma caixa, em memória de Neko, disse ele. A morte recente do gato contribuía para o desânimo de Alma e o enjoativo perfume das flores não a ajudou a ficar mais animada. Seth colocou-as num prato com água, preparou um chá para ambos e instalou-se com a avó no sofá da salinha.
— O que é que aconteceu às flores de Ichimei Fukuda, avó? — perguntou num tom de indiferença.
— O que é que tu sabes sobre Ichimei, Seth? — respondeu Alma, aflita.
— Bastante. Calculo que esse seu amigo tem a ver com as cartas e as gardênias que recebe e com as suas escapadelas. A avó pode fazer o que quiser, claro, mas parece- me que já não tem idade para andar por aí sozinha ou mal acompanhada.
— Andaste a espiar-me! Como é que te atreves a meter o nariz na minha vida?
— Estou preocupado consigo, avó. Deve ser porque, apesar de ser tão rabugenta, sinto carinho por si. Não precisa de esconder nada; pode confiar em Irina e em mim. Seremos seus cúmplices em qualquer disparate que se lembre de fazer.
— Não é nenhum disparate!
— Evidentemente que não. Desculpe. Sei que é o amor da sua vida. Irina ouviu por acaso uma conversa entre si e Lenny Beal.
Nessa altura, Alma e o resto dos Belasco sabiam que Irina estava a viver no apartamento de Seth, se não permanentemente, pelo menos vários dias por semana. Doris e Larry abstiveram-se de fazer comentários negativos com a esperança de que a patética imigrante da Moldávia fosse um capricho passageiro do filho, no entanto recebiam Irina com uma fria cortesia, razão pela qual ela evitava participar nos almoços de domingo em Sea Cliff, para onde Alma e Seth insistiam em arrastá-la. Pelo contrário, Pauline, que se opusera, sem exceção, às namoradas atléticas de Seth, recebeu-a de braços abertos. «Dou-te os parabéns, irmão. Irina é refrescante e tem uma personalidade mais forte do que tu. Saberá orientar-te na vida.»
— Porque é que não me conta tudo, avó? Não tenho cartão de detetive nem desejos de a espiar — rogou Seth a Alma.
A chávena de chá ameaçava cair das mãos trêmulas de Alma e o neto a tirou e pôs em cima da mesa. A ira inicial da mulher dissipara-se e fora substituída por uma imensa fadiga, um desejo profundo de desabafar e de confessar ao neto os seus erros, contar-lhe que estava a consumir-se por dentro e a morrer aos poucos em boa hora, porque já não aguentava mais o cansaço e morria feliz e apaixonada, que mais podia pedir-se aos oitenta e tal anos, depois de viver e amar intensamente e de engolir as lágrimas.
— Chama a Irina. Não quero ter de repetir a história — disse a Seth.
Irina recebeu a mensagem de texto no telemóvel quando estava no gabinete de Hans Voigt, com Catherine Hope, Lupita Farías e as duas chefes dos serviços de assistência e de enfermagem, a discutir a questão do falecimento por escolha, eufemismo que substituía o termo suicídio, proibido pelo diretor.
Na recepção fora interceptada uma encomenda fatídica originária da Tailândia, que jazia em jeito de prova em cima da secretária do diretor. Vinha em nome de Helen Dempsey, residente do terceiro nível, de oitenta e nove anos, com cancro reincidente, sem família nem forças para enfrentar novamente a quimioterapia. As instruções indicavam que o conteúdo se ingeria com álcool e o fim chegava aprazivelmente durante o sono.
«Devem ser barbitúricos», disse Cathy. «Ou veneno dos ratos», acrescentou Lupita. O diretor queria saber como raio Helen Dempsey encomendara aquilo sem que ninguém se apercebesse; era suposto o pessoal estar atento. Seria muito prejudicial se corresse o boato de que na Lark House havia suicidas; ia ser um desastre para a imagem da instituição. No caso de mortes suspeitas, como a de Jacques Devine, tinham o cuidado de não efetuar uma investigação excessivamente minuciosa; era preferível ignorar os detalhes. Os empregados culpavam os fantasmas de Emily e do seu filho, que levavam os desesperados, porque cada vez que alguém falecia, fosse por causas naturais ou ilegais, Jean Daniel, o cuidador haitiano, dava de caras com a jovem do vestido de tule cor-de- rosa e o seu infeliz menino. A visão punha-lhe os cabelos em pé. Pedira para que contratassem uma compatriota sua, cabeleireira por necessidade e sacerdotisa vudu por vocação, para que os enviasse para o reino do outro mundo, onde pertenciam, mas Hans Voigt não tinha orçamento suficiente para cobrir este tipo de gastos, já que só com muita dificuldade mantinha em funcionamento a comunidade fazendo malabarismos financeiros. O assunto era pouco conveniente para Irina, pois andava a choramingar porque dois dias antes segurara Neko nos braços, enquanto lhe davam a injeção misericordiosa que acabou com os achaques da sua velhice. Alma e Seth tinham sido incapazes de acompanhar o gato nessa travessia, a primeira por pena e o segundo por cobardia.
Deixaram Irina sozinha no apartamento para receber o veterinário. Em vez do doutor Kallet, que teve um problema de família à última da hora, veio uma rapariga míope e nervosa com aspeto de recém-licenciada. No entanto, a jovem demonstrou ser eficiente e compassiva; o gato partiu a ronronar, sem se aperceber de nada. Seth tinha de levar o cadáver ao crematório de animais, mas de momento Neko estava num saco de plástico no frigorífico de Alma. Lupita Farías conhecia um taxidermista mexicano que podia deixá-lo como vivo, enchido com estopa e com olhos de vidro, ou então limpar e polir a caveira, que colocada num pequeno pedestal serviria de decoração. Sugeriu a Irina e a Seth que fizessem aquela surpresa a Alma, porém eles acharam que aquele gesto não seria devidamente apreciado pela avó. «Na Lark House temos o dever de desanimar qualquer tentativa de falecimento por escolha, ficou claro?», insistiu Hans Voigt pela terceira ou quarta vez, com um firme olhar de advertência dirigido a Catherine Hope, porque era a ela que recorriam os pacientes com dor crônica, os mais vulneráveis. Suspeitava, e com razão, que aquelas mulheres sabiam mais do que aquilo que estavam dispostas a dizer-lhe. Quando Irina viu a mensagem de Seth no ecrã do telemóvel, interrompeu-o: «Desculpe, senhor Voigt, é uma urgência». Isso ofereceu às cinco uma oportunidade para se escaparem, deixando o diretor a meio de uma frase.
Encontrou Alma sentada na cama, com um xaile sobre as pernas, onde o neto a instalara ao vê-la cambalear. Pálida e sem batom nos lábios, era uma anciã encolhida.
«Abram a janela. Este ar rarefeito da Bolívia está a dar cabo de mim», pediu. Irina explicou a Seth que a avó não estava a delirar, referia-se à sensação de sufoco, zumbido nos ouvidos e desfalecimento do corpo, similar à que tivera quando sofreu os efeitos das alturas em La Paz, a três mil e seiscentos metros de altura, muitos anos antes.
Seth suspeitou que os efeitos não estavam relacionados com o ar boliviano, mas com o gato no frigorífico.
Alma começou por fazê-los jurarem que guardariam o seu segredo até depois da sua morte e começou a repetir-lhes o que já lhes tinha contado, porque decidiu que era melhor alinhavar aquela tessitura desde o início. Começou pela despedida dos pais no cais de Danzig, a chegada a São Francisco e a forma como se agarrou à mão de Nathaniel, pressentindo que talvez nunca a largasse; continuou com o momento exato em que conheceu Ichimei Fukuda, o momento mais inesquecível dos instantes guardados na memória, e daí foi avançando pelo caminho do passado com uma clareza tão diáfana como se lesse em voz alta. As dúvidas de Seth sobre o estado mental da avó evaporaram- se. Ao longo dos três anos anteriores em que lhe surripiara material para o livro, Alma demonstrara o seu virtuosismo de narradora, o seu sentido do ritmo e a habilidade para manter o suspense, a sua capacidade de contrastar os factos luminosos com os mais trágicos, luz e sombra, como as fotografias de Nathaniel Belasco; porém até essa tarde não tivera a oportunidade de a admirar numa maratona de esforço contido. Fazendo algumas pausas para beber chá e mordiscar umas bolachas, Alma falou durante horas. Caiu a noite e nenhum dos três se apercebeu, a avó falava e os jovens permaneciam atentos. Contou-lhes o seu reencontro com Ichimei aos vinte e dois anos, depois de doze anos sem se verem, e como o amor adormecido da infância os arrebatou com uma força irresistível, embora soubessem que era um amor condenado e, de facto, durou menos de um ano. A paixão é universal e eterna através dos séculos, disse, mas as circunstâncias e os costumes mudam constantemente e tornava-se difícil compreender sessenta anos mais tarde os obstáculos intransponíveis com que eles se tinham deparado naquela época. Se pudesse voltar a ser jovem, com o que sabia sobre si mesma agora que era velha, faria o mesmo que fizera; porque não teria a coragem de assumir algo definitivo com Ichimei, os preconceitos tê-lo-iam impedido; nunca fora corajosa, acatava as normas.
O seu único ato de desafio fora realizado aos setenta e oito anos, quando abandonou a casa de Sea Cliff para se instalar na Lark House. Aos vinte e dois anos, com a desconfiança de que tinham o tempo contado, Ichimei e Alma sufocaram de amor na tentativa de o consumirem todo, mas quanto mais insistiam em extingui-lo mais imprudente era o desejo, e quem diz que mais tarde ou mais cedo o fogo se apaga sozinho está enganado: existem paixões que são incêndios até serem brutalmente apagadas pelo destino. Mesmo assim, subsistem brasas quentes, prontas a reacender logo que recebem um pouco de oxigênio. Falou-lhes de Tijuana e do casamento com Nathaniel e de como passariam ainda mais sete anos para voltar a ver Ichimei no funeral do sogro, pensando nele sem ansiedade, porque não esperava voltar a encontrá-lo, e outros sete antes de poderem finalmente concretizar o amor que ainda partilhavam.
— Então, avó, o meu pai não é filho de Nathaniel? Nesse caso eu sou neto de Ichimei! Diga-me se sou Fukuda ou Belasco! — exclamou Seth.
— Se fosses Fukuda terias algum traço japonês, não achas? És Belasco.
A criança que não nasceu
Durante os primeiros meses de casada, Alma esteve tão pendente da sua gravidez que a raiva por ter renunciado ao amor de Ichimei se transformou num desconforto suportável, como uma pedrinha no sapato. Submergiu numa placidez de ruminante, refugiada no carinho solícito de Nathaniel e no ninho proporcionado pela família. Embora Martha e Sarah já lhes tivessem dado netos, Lillian e Isaac esperavam aquele bebé como se fosse um bebé real, porque usaria o apelido Belasco. Escolheram-lhe um quarto da casa cheio de luz, decorado com móveis infantis e personagens de Walt Disney pintados nas paredes por um artista trazido de Los Angeles. Dedicaram-se a cuidar de Alma, satisfazendo os seus mais ínfimos desejos. Ao sexto mês de gravidez ela já tinha engordado excessivamente, tinha a tensão alta, a cara com manchas, as pernas pesadas, passava o tempo todo com dores de cabeça, os sapatos não lhe entravam nos pés e usava chinelos de praia, mas desde o primeiro movimento de vida no seu ventre apaixonou-se pelo bebé que estava a crescer dentro dela, que não era de Nathaniel nem de Ichimei, era apenas seu. Queria um filho para lhe dar o nome de Isaac e oferecer ao sogro o descendente que daria continuidade ao apelido Belasco. Nunca ninguém saberia que não eram do mesmo sangue, prometera-o a Nathaniel. Pensava, com acessos de culpa, que se Nathaniel não o tivesse impedido aquela criança teria terminado num esgoto em Tijuana.
À medida que aumentava a sua fraqueza em relação ao bebé, aumentava também o seu horror pelas transformações no seu corpo, mas Nathaniel garantia-lhe que estava radiosa, mais bela do que nunca, e contribuía para o seu excesso de peso com chocolates recheados com laranja e outros desejos. A relação de bons irmãos manteve-se igual a sempre. Ele, elegante e pulcro, usava a casa de banho ao lado do seu escritório, no outro extremo da casa, e não se despia à frente dela, no entanto Alma perdeu completamente o pudor em relação a ele e abandonou-se à figura deformada do seu estado, partilhando os pormenores prosaicos e as suas indisposições, as crises de nervos e os medos da maternidade, vulnerável como nunca estivera antes. Durante esse período violou as normas fundamentais impostas pelo pai de não se queixar, não pedir e não confiar em ninguém. Nathaniel tornou-se o centro da sua existência, debaixo das suas asas sentia-se feliz, a salvo e aceite. Isso criou entre eles uma intimidade desequilibrada que lhes parecia natural, porque se adequava ao carácter de cada um. Se alguma vez mencionaram essa distorção foi para acordarem que, depois de o bebé nascer e de Alma recuperar do parto, tentariam viver como um casal normal, mas nenhum dos dois parecia ansioso por chegar a esse ponto. Entretanto ela descobrira o lugar perfeito no ombro dele, debaixo do queixo, para apoiar a cabeça e dormitar. «És livre para sair com outras mulheres, Nat.
Apenas te peço que sejas discreto, para evitar a humilhação», repetia-lhe Alma, e ele respondia-lhe sempre com um beijo e uma piada. Embora ela não tivesse conseguido livrar-se da marca que Ichimei deixara na sua mente e no seu corpo, sentia ciúmes de Nathaniel; havia meia dezena de mulheres que o perseguiam e imaginava que o facto de o verem casado seria para mais do que uma um incentivo e não um impedimento.
Estavam na casa da família no lago Tahoe, para onde os Belasco iam esquiar no inverno, a beber cidra quente às onze da manhã e à espera que amainasse a tempestade para saírem, quando Alma apareceu na sala a cambalear em camisa de dormir e descalça. Lillian foi ajudá-la e ela afastou-a, tentando ver com nitidez. «Digam ao meu irmão Samuel que sinto a cabeça a rebentar», murmurou. Isaac tentou levá-la até um sofá, chamando Nathaniel aos gritos, porém Alma parecia colada ao chão, pesada como um móvel, agarrando a cabeça com as duas mãos e dizendo coisas incoerentes sobre Samuel, a Polônia e diamantes no forro de um sobretudo. Nathaniel chegou a tempo de ver a mulher cair no chão entre convulsões.
O ataque de eclampsia ocorreu às vinte e oito semanas de gravidez e durou um minuto e quinze segundos. Nenhuma das três pessoas presentes percebeu de que se tratava, pensaram que era epilepsia. Nathaniel apenas atinou em deitá-la de lado, segurou-a para evitar que se magoasse e manteve-lhe a boca aberta com a ajuda de uma colher. As terríveis sacudidelas abrandaram rapidamente e Alma ficou exangue e desorientada, não sabia onde se encontrava nem quem estava com ela, gemia com dor de cabeça e espasmos no ventre. Meteram-na no automóvel agasalhada com mantas e, a patinar no gelo do caminho, levaram-na para a clínica, onde o médico de serviço, especialista em fraturas e contusões de esquiadores, não conseguiu fazer muito mais do que tentar baixar-lhe a tensão. A ambulância demorou sete horas para chegar de Tahoe a São Francisco, desafiando a tempestade e os obstáculos da estrada. Quando finalmente o obstetra examinou Alma, avisou a família do risco iminente de novas convulsões ou de um ataque cerebral. Ao fim de cinco meses e meio de gestação, as possibilidades de a criança sobreviver eram nulas, deviam esperar umas seis semanas para lhe induzirem o parto, no entanto durante esse período de tempo a mãe e o bebé podiam morrer.
Como se tivesse ouvido, alguns minutos depois o palpitar do coração do bebé no útero cessou, poupando Nathaniel de ter de tomar uma trágica decisão. Alma foi rapidamente conduzida ao bloco operatório. Nathaniel foi o único a ver o bebé. Recebeu- o nas mãos, a tremer de cansaço e de tristeza, afastou as pontas da fralda e encontrou um ser minúsculo, encolhido e azul, com a pele fina e translúcida como casca de cebola, totalmente formado e com os olhos entreabertos. Aproximou-o do rosto e beijou-o longamente na cabeça. O frio queimou-lhe os lábios e sentiu o rumor profundo dos soluços silenciados a subirem-lhe desde os pés, sacudindo-lhe o corpo todo e transformando-se em lágrimas. Chorou acreditando que chorava pelo menino morto e por Alma, mas fazia-o por si mesmo, pela sua vida comedida e convencional, pelo peso das responsabilidades que nunca conseguia sacudir de cima de si, pela solidão que o acabrunhava desde que nasceu, pelo amor que desejava e nunca teria, pela sorte enganadora que lhe tinha calhado e por todas as malditas armadilhas do seu destino.
Sete meses após o aborto espontâneo, Nathaniel levou Alma a fazer uma viagem pela Europa para a distrair da melancolia fúnebre que se apoderara da sua vontade. Dera- lhe para falar do irmão Samuel na época em que ambos viviam na Polônia, de uma preceptora que a perseguia nos seus pesadelos, de um certo vestido de veludo azulado, de Vera Neumann com os seus óculos de coruja, de duas odiosas colegas de escola, de livros que lera e de cujos títulos não se lembrava, mas cujas personagens lhe faziam sentir pena, entre outras recordações inúteis. Uma viagem cultural poderia fazer ressuscitar a inspiração de Alma e devolver-lhe o entusiasmo pelos seus tecidos pintados, pensava Nathaniel, e se isso acontecesse, propor-lhe-ia que estudasse durante algum tempo na Royal Academy of Arts, a mais antiga escola de arte da Grã-Bretanha.
Pensava que a melhor terapia para Alma seria afastar-se de São Francisco, dos Belasco no geral e dele em particular. Não tinham voltado a mencionar Ichimei e Nathaniel supunha que ela, fiel à sua promessa, não estava em contacto com ele. Decidiu passar mais tempo com a mulher, reduziu as horas de trabalho e, sempre que era possível, estudava os casos e preparava as suas alegações em casa. Continuavam a dormir em quartos separados, mas deixaram de fingir que o faziam juntos. A cama de Nathaniel ficou definitivamente instalada no seu quarto de solteiro, entre as paredes cobertas com papel com cenas de caça, cavalos, cães e raposas. Ao partilhar a insônia, tinham sublimado toda a tentação de sensualidade. Ficavam a ler até depois da meia-noite num dos salões, ambos no mesmo sofá, cobertos com a mesma manta. Em alguns domingos em que o clima o impedia de velejar, Nathaniel conseguia que Alma o acompanhasse ao cinema ou dormiam a sesta lado a lado no sofá da insônia, que substituía o leito matrimonial que não tinham.
A viagem abrangeria desde a Dinamarca até à Grécia, incluindo um cruzeiro no Danúbio e outro na Turquia, devia durar dois meses e culminar em Londres, onde iriam separar-se. Na segunda semana, quando andavam a passear de mão dada pelas ruelas de Roma, depois de um jantar memorável e de duas garrafas do melhor Chianti, Alma parou debaixo de um candeeiro, agarrou Nathaniel pela camisa, atraiu-o para si com um puxão e beijou-o na boca. «Quero que durmas comigo», ordenou. Nessa noite, no decadente palácio transformado em hotel onde estavam alojados, fizeram amor embriagados pelo vinho e pelo verão romano, descobrindo o que já sabiam um do outro, com a sensação de estarem a cometer um ato ilícito. Alma devia os seus conhecimentos sobre o amor carnal e sobre o seu próprio corpo a Ichimei, que compensava a sua falta de experiência com uma insuperável intuição, a mesma que utilizava para fazer reanimar uma planta melancólica.
No hotel das baratas, Alma fora um instrumento musical nas mãos amorosas de Ichimei. Com Nathaniel não viveu nada disso. Fizeram amor apressadamente, perturbados, desajeitados, como dois estudantes a cometer um delito, sem se darem tempo de se perscrutar mutuamente, de se cheirarem, de rirem ou de suspirarem juntos; depois invadiu-os uma inexplicável angústia que tentaram disfarçar fumando em silêncio, cobertos pelo lençol sob a luz amarelada da lua que os espiava da janela.
No dia seguinte esgotaram as suas forças a passear pelas ruínas, a trepar por escadas de pedra milenárias, a espreitar catedrais, a perder-se entre estátuas de mármore e fontes exageradas. Ao anoitecer voltaram a beber em demasia e chegaram a cambalear ao palácio decadente e fizeram novamente amor com pouco desejo, mas com empenho. E assim, dia a dia, noite após noite, percorreram as cidades e navegaram nas águas da viagem programada e foram criando a rotina de esposos que tão cuidadosamente tinham evitado, até que acabou por ser natural para eles partilhar a mesma casa de banho e acordar na mesma almofada.
Alma não ficou em Londres. Regressou a São Francisco com resmas de folhetos e postais de museus, livros de arte e fotografias de lugares pitorescos tiradas por Nathaniel, com vontade de recomeçar as suas pinturas; tinha a cabeça cheia de cores, desenhos e de grafismos do que vira, almofadas turcas, jarrões gregos, tapeçarias belgas, quadros de todas as épocas, ícones bordados de pedras preciosas, madonas lânguidas e santos famélicos; mas também mercados de frutas e legumes, barcos de pesca, roupa pendurada nas varandas de ruelas estreitas, homens a jogar dominó nas tabernas, crianças nas praias, matilhas de cães sem dono, burros tristes e telhados antigos em aldeias adormecidas pela rotina e pela tradição.
Tudo isto acabaria por ficar estampado nos seus tecidos com grandes pinceladas em cores radiantes. Nessa época possuía um atelier de oitocentos metros quadrados na zona industrial de São Francisco, que estivera sem uso durante meses e que se propôs revitalizar. Submergiu no trabalho: passava semanas sem pensar em Ichimei nem no bebé que tinha perdido. A intimidade com o marido ficou reduzida a quase nada quando regressaram da Europa; cada um tinha as suas azáfamas, acabaram-se as noites de insônia a ler no sofá, embora continuassem unidos pela mesma ternura amistosa de que sempre gozaram. Alma muito raramente dormitava com a cabeça no lugar exato entre o ombro e o queixo do marido, onde antes se sentia segura. Não voltaram a dormir debaixo dos mesmos lençóis nem a usar a mesma casa de banho; Nathaniel ocupava a cama do seu escritório e Alma ficou sozinha no quarto azul. Se alguma vez faziam amor, era por puro acaso e com muito álcool no sangue.
— Quero libertar-te da tua promessa de me seres fiel, Alma. Não é justo para ti — disse-lhe Nathaniel uma noite em que estavam a observar uma chuva de estrelas fugazes na pérgula do jardim e a fumar marijuana. — És jovem e estás cheia de vida, mereces mais amor do que aquele que eu sou capaz de te dar.
— E tu? Há por aí quem te oferece amor e queres ser livre? Nunca te impedi de o fazeres, Nat.
— Não estamos a falar de mim, Alma.
— Estás a libertar-me da minha promessa num momento muito pouco oportuno, Nat. Estou grávida e desta vez o único que pode ser o pai és tu. Estava pensando em dizer quando tivesse certeza.
Isaac e Lillian Belasco receberam a notícia dessa gravidez com o mesmo entusiasmo da primeira vez, renovaram o quarto que tinham preparado para o outro bebé e prepararam-se para o mimarem. «Se for rapaz e eu já tiver morrido quando nascer, suponho que lhe vão dar o meu nome, mas se estiver vivo não podem fazê-lo, porque traria má sorte.
Nesse caso quero que se chame Lawrence Franklin Belasco, como o meu pai e o grande presidente Roosevelt, que descansem em paz», pediu o patriarca. Lenta e inexoravelmente estava a ficar cada vez mais débil, só continuava em pé porque não podia abandonar Lillian; a mulher convertera-se na sua sombra. Lillian estava quase surda, mas ouvir não lhe fazia falta. Aprendera a decifrar os silêncios alheios com exatidão, era impossível esconder-lhe algo ou enganá-la, e tinha desenvolvido uma arrepiante capacidade para adivinhar o que pensavam dizer-lhe e para responder antes que o enunciassem. Tinha duas ideias fixas: melhorar a saúde do marido e conseguir que Nathaniel e Alma se apaixonassem como devia ser. Em ambos os casos recorria a terapias alternativas que incluíam desde colchões magnetizados até elixires curativos ou afrodisíacos. A Califórnia, na vanguarda da bruxaria naturalista, possuía uma notável variedade de vendedores de esperança e de consolo. Isaac resignara-se a pendurar cristais ao pescoço e a beber sumo de alfafa e xarope de escorpião, assim como Alma e Nathaniel suportavam as esfregas com o óleo afrodisíaco de ylang-ylang, as sopas chinesas de barbatana de tubarão e outras estratégias de alquimista com que Lillian procurava avivar o seu tépido amor.
Lawrence Franklin Belasco nasceu na primavera sem nenhum dos problemas que, devido à eclampsia que a mãe sofrera anteriormente, os médicos previram. Desde o seu primeiro dia no mundo o nome era demasiado grande para ele e todos começaram a chamar-lhe Larry. Cresceu saudável, gordo e autossuficiente, sem exigir nenhum cuidado especial, tão tranquilo e discreto que às vezes adormecia debaixo de um móvel e ninguém dava pela falta dele durante horas. Os pais confiaram-no aos avós e às sucessivas amas que iriam criá-lo, sem lhe prestarem muita atenção, pois em Sea Cliff havia meia dúzia de adultos a cuidarem dele.
Não dormia na sua cama, alternava entre a cama de Isaac e a de Lillian, a quem chamava papá e mamãe; aos progenitores chamava-lhes formalmente pai e mãe. Nathaniel passava pouco tempo em casa, tornara-se o advogado mais importante da cidade, ganhava dinheiro a rodos e nas horas livres praticava desporto e explorava a arte da fotografia; estava à espera de que o filho crescesse um pouco mais para o iniciar nos prazeres de velejar, sem imaginar que esse dia não chegaria. Como os sogros se tinham apoderado do neto, Alma começou a viajar à procura de temas para o seu trabalho sem sentimento de culpa por deixar o filho. Nos primeiros anos, planeava viagens curtas para não se separar de Larry por muito tempo, mas verificou que não fazia diferença, porque em cada regresso, fosse após uma ausência prologada ou uma breve, o seu filho recebia-a com o mesmo cortês aperto de mão em vez do abraço eufórico tão esperado. Concluiu, ofendida, que Larry gostava mais do gato do que dela e então pôde ir ao Extremo Oriente, à América do Sul e a outros lugares remotos.
O patriarca
Larry Belasco passou os seus quatro primeiros anos rodeado pelos avós e pelos empregados da casa, cuidado como uma planta de estufa, com todos os caprichos satisfeitos. Este sistema, que teria arruinado irremediavelmente o carácter de uma criança menos centrada, tornou-o amável, prestável e pouco propenso a confusões. A sua personalidade agradável não se alterou quando em 1962 morreu o avô Isaac, um dos pilares que sustentava o universo de fantasia onde vivera até àquele momento. A saúde de Isaac melhorara quando nasceu o seu neto preferido. «Em espírito tenho vinte anos, Lillian, que raio se passou com o meu corpo?» Tinha energia para levar Larry a passear diariamente, ensinava-lhe os segredos de botânica do seu jardim, brincava de gatas no chão com ele e comprava-lhe os animais de estimação que ele próprio desejara ter quando era criança: um papagaio falador, peixes num aquário, um coelho, que desapareceu para sempre entre os móveis assim que Larry lhe abriu a porta da jaula, um cão de orelhas caídas, o primeiro de várias gerações de cocker spaniels que a família teria nos anos posteriores. Os médicos não encontravam explicação para as surpreendentes melhoras de Isaac, mas Lillian atribuía-as às artes curativas e às ciências esotéricas em que chegara a ser especialista. Depois de um dia feliz, nessa noite era a vez de Larry dormir na cama do avô.
Passara a tarde no parque de Golden Gate a andar num cavalo alugado, o avô sentado na sela de montar e ele à frente seguro pelos seus braços. Regressaram queimados pelo sol, a cheirar a suor e entusiasmados com a ideia de comprar um cavalo e um pônei para cavalgarem juntos. Lillian estava à espera deles com a churrasqueira do jardim pronta para assar salsichas e marshmallows, o jantar preferido do avô e do neto. Depois deu um banho a Larry, deitou-o no quarto do marido e leu-lhe uma história até ele adormecer. Bebeu um cálice de xerez com láudano e foi para a cama. Acordou às sete da manhã com a mãozinha de Larry a abaná-la num ombro. «Mamãe, mamãe, o papai caiu.» Encontraram Isaac estendido no chão da casa de banho. Foi preciso a força conjunta de Nathaniel e do motorista para deslocar o corpo gelado e rígido, que se tornara chumbo, para o colocarem em cima da cama. Quiseram evitar aquela visão a Lillian, mas ela empurrou-os a todos para fora do quarto, fechou a porta e não voltou a abri-la até ter terminado de lavar lentamente o marido e de o esfregar com uma loção e uma colônia, revendo cada pormenor daquele corpo que ela conhecia melhor do que o seu e que tanto amava, surpreendida por ele não ter envelhecido nada; mantinha-se exatamente como ela sempre o vira, era o mesmo jovem alto e forte que pegava nela ao colo a rir-se, bronzeado por andar a trabalhar no jardim, com a abundante cabeleira negra dos vinte e cinco anos e as suas bonitas mãos de homem bom. Quando abriu a porta do quarto estava serena. A família temeu que sem ele Lillian morresse de pena em pouco tempo, no entanto ela demonstrou-lhes que a morte não é um impedimento intransponível para a comunicação entre aqueles que se amam verdadeiramente.
Anos mais tarde, na segunda sessão de psicoterapia, quando a mulher ameaçava abandoná-lo, Larry ia evocar essa imagem do avô caído na casa de banho como o momento mais marcante da sua infância, e a imagem do pai amortalhado como o fim da sua juventude e a entrada forçada na idade adulta.
À data do primeiro acontecimento tinha quatro anos e do segundo vinte e seis. O psicólogo perguntou-lhe, com um resquício de dúvida na voz, se tinha outras lembranças dos seus quatro anos e Larry nomeou desde os nomes de cada um dos empregados da casa e dos animais de estimação até aos títulos das histórias que a avó lhe lia e a cor do vestido que usava quando ficou cega, horas depois do falecimento do marido. Esses primeiros quatro anos debaixo do amparo dos avós tinham sido a época mais feliz da sua existência e guardava na memória todos os pormenores.
Foi diagnosticada a Lillian cegueira temporária histérica, mas nenhum dos dois adjetivos mostrou estar correto. Larry foi o seu guia até entrar no jardim de infância, aos seis anos, e depois ela desenvencilhou-se sozinha, porque não quis depender de mais ninguém. Conhecia de cor a casa de Sea Cliff e o que lá havia, deslocava-se com prudência e até fazia incursões na cozinha para fazer bolachas para o neto. Além disso, Isaac levava-a pela mão, como ela garantia, meio a brincar meio a sério. Para agradar ao invisível marido, começou a vestir-se apenas de lilás, por ser a cor que usava quando o conhecera em 1914, e porque isso resolvia o problema de escolher às cegas a roupa de todos os dias. Não permitiu que a tratassem como uma inválida nem deu mostras de se sentir isolada devido à falta de audição e de visão. De acordo com Nathaniel, a sua mãe tinha olfato de cão perdigueiro e radar de morcego para se orientar e conhecer as pessoas. Até à morte de Lillian, em 1973, Larry tivera amor incondicional e, de acordo com o psicólogo que o salvou do divórcio, não podia esperar esse tipo de amor por parte da esposa; no casamento não há nada incondicional.
O viveiro de flores e plantas de interior dos Fukuda aparecia na lista telefônica e de tempos a tempos Alma verificava se se mantinha na mesma morada, mas nunca cedeu à curiosidade de ligar a Ichimei. Custara-lhe muito recuperar do amor frustrado e temia voltar a naufragar na mesma paixão obsessiva de antes, se ouvisse a voz dele por um instante que fosse. Nos anos subsequentes a esse período, os sentidos dela tinham adormecido: ao mesmo tempo que superava a sua obsessão por Ichimei, transmitia para os seus pincéis a sensualidade partilhada com ele e inexistente com Nathaniel. Isso mudou no segundo funeral do sogro, quando identificou no meio da imensa multidão o rosto inconfundível de Ichimei, que continuava igual ao do jovem de que ela se lembrava.
Ichimei seguiu o cortejo acompanhado por três mulheres, duas que Alma conhecia vagamente, ainda que não as visse há já muitos anos, e uma rapariga que sobressaía, porque não ia vestida de negro rigoroso, como o resto dos presentes. O pequeno grupo permaneceu a certa distância, mas quando a cerimônia terminou e as pessoas começavam a dispersar, Alma largou o braço de Nathaniel e seguiu-os até à avenida, onde estavam estacionados os carros. Fê-los parar gritando pelo nome de Ichimei e os quatro viraram- se para trás.
— Senhora Belasco — disse Ichimei em forma de cumprimento, inclinando-se formalmente.
— Ichimei — repetiu ela, paralisada.
— A minha mãe, Heideko Fukuda, a minha irmã Megumi Anderson e a minha esposa, Delphine — disse ele.
As três mulheres cumprimentaram-na, inclinando-se. Alma sentiu um espasmo brutal no estômago e ficou sem ar, ao mesmo tempo que examinava Delphine sem disfarçar, que não se deu conta porque olhava para o chão, por respeitosa cortesia. Era jovem, bonita, fresca, sem a carregada maquilhagem da moda, vestida de cinza-pérola, com um fato de saia curta e um chapéu redondo, estilo Jacqueline Kennedy, e com o mesmo penteado da Primeira Dama.
A sua roupa era tão americana que o rosto asiático parecia incongruente.
— Obrigada por terem vindo — conseguiu balbuciar Alma quando recuperou o fôlego.
— D. Isaac Belasco foi o nosso benfeitor, ser-lhe-emos sempre gratos. Graças a ele pudemos regressar à Califórnia, ele financiou o viveiro e ajudou-nos a seguir em frente
— disse Megumi, emocionada.
Alma já sabia disso, porque Nathaniel e Ichimei lho haviam contado, mas a solenidade daquela família reiterou-lhe a certeza de que o sogro fora um homem excecional. Amou-o mais do que amaria o seu pai, se a guerra não lho tivesse levado. Isaac Belasco era o oposto de Baruj Mendel: bondoso, tolerante e sempre disposto a dar. A dor de o ter perdido, que até esse momento não sentira completamente, porque andava desnorteada, como todos os membros da família Belasco, desabou sobre ela. Sentiu os olhos úmidos, mas engoliu as lágrimas e os soluços que lutavam há dias para saírem cá para fora. Apercebeu-se de que Delphine a observava com a mesma intensidade com que ela o fizera uns minutos antes. Julgou ver nos olhos límpidos da mulher uma expressão de inteligente curiosidade, como se soubesse exatamente o papel que ela tinha desempenhado no passado de Ichimei. Sentiu-se exposta e um pouco ridícula.
— As nossas mais sinceras condolências, senhora Belasco — disse Ichimei, tomando novamente o braço da mãe para continuar.
— Alma. Ainda sou Alma — murmurou ela.
— Adeus, Alma — disse ele.
Durante duas semanas esperou que Ichimei entrasse em contacto com ela: examinava o correio com ansiedade e ficava sobressaltada cada vez que tocava o telefone, imaginando mil desculpas para aquele silêncio, menos a única razoável: estava casado.
Recusou-se a pensar em Delphine, pequena, magra, elegante, mais jovem e bonita do que ela, com o seu olhar inquisitivo e a mão enluvada no braço de Ichimei. Um sábado, pegou no seu carro e foi até Martínez, com grandes óculos de sol e um lenço na cabeça. Passou três vezes em frente da loja dos Fukuda sem ter coragem de sair do carro. Na segunda-feira seguinte não conseguiu aguentar mais o tormento da ansiedade e telefonou para o número que, de tanto olhar para ele na lista de telefone, havia memorizado. «Fukuda, Flores e Plantas de Interior, em que podemos ajudar?» Era uma voz de mulher e Alma não teve dúvidas de que pertencia a Delphine, embora ela não tivesse dito nem uma palavra na única ocasião em que tinham estado juntas. Alma pousou o auricular. Voltou a telefonar outras vezes, rezando para que atendesse Ichimei, mas aparecia-lhe sempre a voz cordial de Delphine e ela desligava. Numa dessas chamadas as duas mulheres estiveram em linha durante quase um minuto, até que Delphine perguntou delicadamente: «Em que posso ajudá-la, senhora Belasco?» Surpreendida, Alma desligou de repente o telefone e jurou renunciar para sempre a tentar contactar com Ichimei. Três dias mais tarde, o correio trouxe-lhe um envelope com a caligrafia de Ichimei a tinta preta. Fechou-se no quarto, com o envelope apertado contra o peito, a tremer de angústia e de esperança.
Na carta, Ichimei dava-lhe novamente os pêsames por Isaac Belasco e revelava-lhe a sua emoção por voltar a vê-la após tantos anos, embora soubesse dos seus êxitos no trabalho e das suas atividades filantrópicas e a tivesse visto frequentemente em fotografias dos jornais. Contava-lhe que Megumi era parteira, estava casada com Boyd Anderson e tinha um filho, Charles, e que Heideko fora algumas vezes ao Japão, onde aprendera a arte do ikebana. No último parágrafo dizia que se tinha casado com Delphine Akimura, nipo-americana de segunda geração como ele. Delphine tinha um ano quando a família dela fora internada em Topaz, mas ele não se lembrava de a ter visto lá, conheceram-se muito mais tarde.
Era professora, mas tinha deixado a escola para administrar o viveiro, que sob a direção dela tinha prosperado; em breve iam abrir uma loja em São Francisco. Despedia- se sem mencionar a possibilidade de se encontrarem ou de esperar receber alguma resposta. Não existia nenhuma referência ao passado que tinham partilhado. Era uma carta informativa e formal, sem os laivos poéticos ou as divagações filosóficas das outras que ela recebera durante o breve período do seu relacionamento, nem sequer trazia um dos seus desenhos, que às vezes acompanhavam as missivas dele. A única coisa que deixou Alma tranquila ao lê-la foi o facto de não referir as chamadas telefônicas que fizera, que sem dúvida teriam sido mencionadas por Delphine. Interpretou-a como aquilo que era: uma despedida e uma advertência tácita de que Ichimei não desejava mais contatos.
A vida quotidiana de Alma nos sete anos seguintes não teve mais acontecimentos relevantes. As viagens dela, interessantes e frequentes, acabaram por se misturar na sua memória como uma aventura única de Marco Polo, como dizia Nathaniel, que nunca demonstrou o menor ressentimento pelas ausências da mulher. Sentiam-se tão visceralmente confortáveis um com o outro como gémeos que nunca se tivessem separado. Conseguiam adivinhar o pensamento um do outro, antecipar os estados de ânimo ou os desejos do outro, concluir a frase que o outro começara. O carinho entre ambos era inquestionável, não valia a pena falar sobre isso, era ponto assente, como a sua amizade extraordinária. Partilhavam as obrigações sociais, o gosto pela arte e pela música, o refinamento dos bons restaurantes, a coleção de vinhos que iam construindo aos poucos, a alegria das férias familiares com Larry.
O rapazinho revelara-se tão dócil e afetuoso que às vezes os pais questionavam-se se ele seria de facto normal. Em privado, longe dos ouvidos de Lillian, que não admitia críticas ao neto, diziam a brincar que no futuro Larry lhes ia fazer uma grande surpresa, ia entrar para uma seita ou ia assassinar alguém; era impossível que passasse pela vida sem um único percalço, como uma toninha satisfeita. Assim que Larry teve idade para apreciá-lo, levaram-no a ver o mundo em viagens anuais inesquecíveis. Foram às ilhas Galápagos, ao Amazonas, fizeram vários safaris por África, que depois Larry fez também com os próprios filhos. O momento mais mágico que recordava da infância era ter dado de comer pela própria mão a uma girafa numa reserva do Quênia: a longa língua áspera e azul, os olhos azuis e doces de pestanas de ópera, o intenso cheiro a pasto acabado de cortar. Nathaniel e Alma possuíam o seu próprio espaço na grande casa de Sea Cliff, onde viviam como num hotel de luxo, sem preocupações, porque Lillian se encarregava de manter oleada a maquinaria doméstica. A boa mulher continuava a imiscuir-se na vida deles e a perguntar com regularidade se por acaso estavam apaixonados, porém, longe de os incomodar, essa peculiaridade da avó parecia-lhes encantadora. Quando Alma estava em São Francisco, os esposos comprometiam-se a passar um bocado juntos à noite para beber um copo e contarem os pormenores do seu dia. Festejavam os êxitos mútuos e nenhum dos dois fazia mais perguntas do que as estritamente necessárias, como se adivinhassem que o delicado equilíbrio da sua relação podia desabar num instante com uma confidência inadequada. Aceitavam de bom grado que cada um tivesse o seu mundo secreto e as suas horas privadas, das quais não tinham obrigação de dar conhecimento. As omissões não eram mentiras. Como entre eles os encontros amorosos eram tão escassos que se podiam considerar inexistentes, Alma imaginava que o marido tinha outras mulheres, porque a ideia de que vivesse em castidade era absurda, mas Nathaniel respeitara o acordo de ser discreto e de lhe evitar humilhações.
No seu caso, permitira-se algumas infidelidades nas viagens, onde surgiam sempre oportunidades, bastava insinuar-se um pouco e na generalidade recebia resposta; no entanto aqueles desafogos davam-lhe menos prazer do que seria suposto e deixavam- na desconcertada. Tinha idade para ter uma vida sexual ativa, pensava. Isso era tão importante para o bem-estar e a saúde como o exercício e uma dieta equilibrada, não devia permitir que o corpo mirrasse. De acordo com esta premissa, a sexualidade acabava por ser apenas uma atividade, em vez de um prazer para os sentidos. Para ela o erotismo exigia tempo e confiança, não surgia facilmente numa noite de romance falso ou encapotado com um desconhecido que não voltaria a ver. Em plena revolução sexual, na era do amor libertino, quando na Califórnia se trocava de casal e meio mundo dormia indiscriminadamente com a outra metade, ela continuava a pensar em Ichimei. Perguntou a si mesma em diversas ocasiões se isso não seria uma desculpa para ocultar a sua frigidez, mas quando por fim se reencontrou com Ichimei não voltou a fazer-se essa pergunta nem a procurar consolo nos braços de estranhos.
12 de setembro de 1978
“Explicaste-me que da quietude nasce a inspiração e do movimento surge a criatividade. A pintura é movimento, Alma, por isso gosto tanto dos teus desenhos recentes, parecem espontâneos, embora saiba quanta tranquilidade interior é necessária para dominar o pincel como tu o fazes. Gosto especialmente das tuas árvores outonais que deixam cair as suas folhas graciosamente. Assim desejo libertar-me das minhas folhas neste outono da vida, com facilidade e elegância. Para quê apegarmo-nos ao que vamos perder de qualquer forma? Julgo que me refiro à juventude, que tem estado tão presente nas nossas conversas.
Na quinta-feira preparar-te-ei um banho com sais e algas marinhas, que me enviaram do
Japão.”
Ichi
Samuel Mendel
Alma e Samuel encontraram-se em Paris, na primavera de 1967. Para Alma era a penúltima etapa de uma viagem de dois meses a Quioto, onde praticara pintura sumi-e, tinta de obsidiana sobre papel branco, sobre a estrita direção de um professor de caligrafia, que a obrigava a repetir o mesmo traço mil vezes, até conseguir a combinação perfeita de leveza e precisão; então podia passar para outro movimento. Tinha visitado várias vezes o Japão. O país fascinava-a, sobretudo Quioto e algumas aldeias das montanhas, onde encontrava marcas de Ichimei por toda a parte. Os traços livres e fluidos do sumi-e, com o pincel vertical, permitiam-lhe expressar-se com grande simplicidade e originalidade; sem pormenores, apenas o essencial, um estilo que Vera Neumann já desenvolvera em pássaros, borboletas, flores e desenhos abstratos. Nessa época Vera tinha uma indústria internacional, vendia milhões, empregava centenas de artistas, existiam galerias de arte com o nome dela e vinte mil lojas à volta do mundo que ofereciam as suas linhas de roupa da moda e objetos de decoração e uso doméstico; mas essa produção em massa não era o objetivo de Alma. Ela mantinha-se fiel à sua opção de exclusividade. Após dois meses de pinceladas negras, preparava-se para regressar a São Francisco para experimentar com cores.
O irmão Samuel voltava pela primeira vez a Paris depois da guerra. Na pesada bagagem, ela levava um baú com os rolos dos seus desenhos e centenas de negativos de caligrafia e pintura para tirar ideias. A bagagem de Samuel era mínima. Vinha de Israel, com calças de camuflagem e samarra de couro, botas do exército e uma mochila leve com duas mudas de roupa interior. Aos quarenta e cinco anos continuava a viver como um soldado, com a cabeça rapada e a pele curtida como uma sola de sapato pelo sol. Para os irmãos aquele encontro ia ser uma romagem ao passado. Com o tempo e uma correspondência intensa foram cultivando a amizade, os dois tinham vocação para a escrita. Alma tinha o treino da sua juventude, quando se centrava completamente nos seus diários. Samuel, parco em palavras e desconfiado em pessoa, podia ser loquaz e amável por escrito.
Em Paris alugaram um carro e Samuel levou-a à aldeia onde morreu pela primeira vez, guiado por Alma, que não esquecera o caminho feito com os tios nos anos cinquenta. Desde essa altura a Europa tinha-se reerguido das cinzas e teve dificuldade em reconhecer o lugar, que antes era um aglomerado de ruínas, escombros e casas humilhadas e estava agora reconstruído, rodeado de vinhedos e campos de lavanda, resplandecente na mais esplendorosa estação do ano. Até o cemitério se tornara próspero. Havia lápides e anjos de mármore, cruzes e grades de ferro, árvores sombrias, pardais, pombas, silêncio. A cuidadora, uma jovem amistosa, guiou-os por caminhos estreitos entre os túmulos à procura da placa colocada pelos Belasco muitos anos antes.
Estava intacta: Samuel Mendel, 1922-1944, piloto da Real Força Aérea da Grã-Bretanha. Por baixo havia uma outra placa mais pequena, também de bronze: Morto em combate pela França e pela liberdade. Samuel tirou a boina e coçou a cabeça, divertido.
— O metal parece recém-polido — observou.
— O meu avô limpa-o e cuida dos túmulos dos soldados. Foi ele que colocou a segunda placa. O meu avô esteve na Resistência, sabia?
— Não me diga! Como é que ele se chama?
— Clotaire Martinaux.
— Lamento não o ter conhecido — disse Samuel.
— O senhor também esteve na Resistência?
— Sim, durante algum tempo.
— Então tem de vir a nossa casa e beber um copo, o meu avô vai ficar feliz por o conhecer, senhor...
— Samuel Mendel.
A jovem hesitou durante um instante, aproximou-se para ler novamente o nome da placa e virou-se, surpreendida.
— Sim, sou eu. Não estou completamente morto, como pode ver — disse Samuel.
Acabaram os quatro instalados na cozinha de uma casa próxima, a beber Pernaud e a comer baguette com salsichão. Clotaire Martinaux, baixo e rechonchudo, com um riso estridente e a cheirar a alho, abraçou-os fortemente, contente por responder ao interrogatório de Samuel, tratando-o por mon frère e enchendo-lhe o copo uma e outra vez. Não era um dos heróis fabricados depois do Armistício, como Samuel teve oportunidade de verificar. Ouvira falar no avião derrubado na sua aldeia, do resgate de um dos tripulantes e conhecia dois dos homens que o esconderam e os nomes dos outros. Ouviu a história de Samuel limpando as lágrimas e assoando o nariz com o lenço que colocava ao pescoço e que também usava para limpar o suor da testa e a gordura das mãos. «O meu avô foi sempre muito chorão», comentou a neta em jeito de explicação.
Samuel contou ao seu anfitrião que o nome dele na Resistência judaica era Jean Valjean e que passara meses com a mente confusa devido ao traumatismo que fizera na cabeça ao cair do avião, mas aos poucos começara a recuperar algumas das suas lembranças.
Tinha imagens difusas de uma casa grande e de empregadas com aventais negros e toucas brancas, mas nenhuma da família. Pensava que se algo ficasse em pé, quando acabasse a guerra, iria procurar as suas raízes na Polônia, porque era de lá a língua em que somava, subtraía, amaldiçoava e sonhava; em alguma parte desse país devia existir essa casa gravada na sua mente.
— Tinha de esperar que acabasse a guerra para averiguar o meu próprio nome e a sorte da minha família. Em 1944 já se vislumbrava a derrota dos alemães, lembra-se, senhor Martinaux? A situação começou a inverter-se inesperadamente na Frente de Leste, onde os britânicos e os americanos menos esperavam. Pensavam que o Exército Vermelho era composto por grupos de camponeses indisciplinados, mal nutridos e mal armados, incapazes de fazer frente a Hitler.
— Lembro-me muito bem, mon frère — disse Martinaux. — Depois da batalha de Estalinegrado, o mito de que Hitler era invencível começou a enfraquecer e pudemos ter alguma esperança. Temos de reconhecer, foram os russos que desmoralizaram e fraturaram a espinha aos alemães em 1943.
— A derrota de Estalinegrado obrigou-os a retroceder até Berlim — acrescentou Samuel.
— Seguiu-se o desembarque dos Aliados na Normandia, em junho de 1944, e dois meses depois foi a libertação de Paris. Ah! Que dia inesquecível!
— Eu fui feito prisioneiro. O meu grupo foi dizimado pelos SS e os meus camaradas que sobreviveram foram executados com um tiro na nuca assim que se renderam. Eu escapei por acaso, andava à procura de comida. Ou melhor, andava a rondar as quintas dos arredores a ver a que é que podia deitar a mão. Até comíamos cães e gatos, era o que houvesse.
Contou-lhe como tinham sido esses meses, os piores da guerra para ele. Sozinho, desorientado, esfomeado, sem contacto com a Resistência, viveu de noite, alimentando-se de terra com bichos e de comida roubada, até que o prenderam no final de setembro.
Os quatro meses seguintes foram passados em trabalhos forçados, primeiro em Monowitz e depois em Auschwitz-Birkenau, onde tinham perecido um milhão e duzentos mil homens, mulheres e crianças. Em janeiro, perante o avanço iminente dos russos, os nazis receberam ordens para se desfazerem das provas do que ali acontecera. Evacuaram os detidos através de uma marcha pela neve, sem alimentos nem abrigo, rumo à Alemanha. Os que ficaram para trás, porque estavam demasiado fracos, iam ser executados, mas com a pressa de fugirem dos russos, as SS não conseguiram destruir tudo e deixaram vivos sete mil prisioneiros. Samuel Mendel estava entre eles.
— Penso que os russos não vieram com a intenção de nos libertarem — explicou Samuel. — A Frente Ucraniana passava por ali perto e abriu os portões do campo. Quem ainda conseguia caminhar, saiu a arrastar-se. Ninguém nos deteve. Ninguém nos ofereceu um pedaço de pão. Expulsavam-nos de todo o lado.
— Eu sei, mon frère. Aqui em França ninguém ajudava os judeus, digo com muita vergonha. Pense que eram tempos terríveis, todos passamos fome e nessas circunstâncias perde-se a humanidade.
— Os sionistas da Palestina também não queriam os sobreviventes dos campos de concentração, éramos os resquícios imprestáveis da guerra — disse Samuel.
Explicou-lhe que os sionistas procuravam gente jovem, forte, saudável; guerreiros destemidos para fazer frente aos árabes e trabalhadores obstinados para lavrarem aquele terreno árido. Porém, uma das poucas coisas de que ele se lembrava da vida anterior era de voar, e isso facilitou-lhe o processo de emigração. Tornou-se soldado, piloto e espião. Acompanhou como escolta David Ben-Gurión durante a criação do Estado de Israel, em 1948, e um ano mais tarde tornou-se um dos primeiros agentes da Mossad.
Os irmãos passaram a noite numa residencial da aldeia e no dia seguinte regressaram a Paris para apanharem um avião com destino a Varsóvia. Na Polônia procuraram inutilmente as marcas dos pais; apenas encontraram os nomes deles numa lista da Agência Judaica referente às vítimas de Treblinka. Percorreram juntos os restos de Auschwitz, onde Samuel tentava reconciliar-se com o passado, mas foi uma peregrinação aos seus mais horríveis pesadelos, que apenas lhe renovou a certeza de que os seres humanos são os animais mais cruéis do planeta.
— Os alemães não são uma raça de psicopatas, Alma. São pessoas normais, como tu e eu, mas qualquer pessoa com fanatismo, poder e impunidade pode transformar-se num animal, como os SS em Auschwitz — disse à irmã.
— Achas que, se tivesses oportunidade, tu também agirias como um animal, Samuel?
— Não acho, Alma, tenho a certeza. Fui militar durante toda a vida. Estive na guerra. Interroguei prisoneiros, muitos prisoneiros. Mas imagino que não queiras saber os pormenores.
Nathaniel
O mal entranhado que haveria de acabar com Nathaniel Belasco foi espreitando durante anos sem que ninguém, nem mesmo ele, se apercebesse. Os primeiros sintomas foram confundidos com a gripe, que nesse inverno atacou em força a população de São Francisco, e desapareceram ao fim de duas semanas. Não se repetiram senão anos mais tarde, e nessa altura deixaram uma sequela de profunda fadiga; havia dias em que andava a arrastar os pés e de ombros encolhidos, como se carregasse às costas um saco de areia. Continuou a trabalhar o mesmo número de horas diárias, mas o tempo rendia-lhe pouco, os documentos acumulavam-se em cima da sua secretária, parecendo expandir-se e reproduzir-se sozinhos durante a noite, confundia as coisas, perdia o fio condutor dos casos que estudava cuidadosamente e que antes resolvia de olhos fechados, de repente não se lembrava do que tinha acabado de ler. Sofrera de insônias ao longo de toda a vida, que se agravaram com episódios de febre e de suores noturnos. «Estamos os dois a sentir os incômodos da menopausa», comentava com Alma, a rir-se, mas ela não achava graça. Deixou de fazer desporto e o veleiro ficava ancorado na marina para que as gaivotas lá fizessem os seus ninhos. Custava-lhe engolir, começou a perder peso, não sentia apetite. Alma preparava-lhe batidos com suplementos de proteínas, que ele bebia com dificuldade e depois vomitava às escondidas para que ela não ficasse preocupada.
Quando lhe apareceram feridas na pele, o médico de família, uma relíquia tão antiga como alguns dos móveis comprados por Isaac Belasco em 1914, que tratara sucessivamente os sintomas como anemia, infeção intestinal, enxaqueca e depressão, mandou-o ver um especialista em cancro.
Aterrada, Alma compreendeu o quanto amava e como precisava de Nathaniel e preparou-se para lutar contra a doença, contra o destino, contra os deuses e os diabos. Abandonou quase tudo para se dedicar completamente a cuidar dele. Deixou de pintar, despediu os funcionários do atelier e apenas ia lá uma vez por mês vigiar o serviço de limpeza. O enorme estúdio, iluminado pela luz difusa do vidro opaco nas janelas, submergiu num sossego de catedral. O movimento acabou de um dia para o outro e o atelier ficou parado no tempo, como se se tratasse de uma ilusão cinematográfica, pronta para recomeçar daí a pouco: as longas mesas protegidas por linhos, os rolos de tecido de pé, como esbeltos guardiões, e outros, já pintados, pendurados nos bastidores, as amostras de desenhos e cores nas paredes, os recipientes e os frascos, os rolos, pincéis e brochas, o murmúrio fantasmagórico da ventilação a difundir eternamente a fragância penetrante das tintas e dos dissolventes. Acabaram as viagens que durante anos lhe trouxeram inspiração e liberdade. Longe do seu meio, Alma largava a sua pele e renascia fresca, curiosa, disponível para a aventura, aberta para o que lhe oferecesse o dia, sem planos nem temores. Essa Alma transumante era tão real que às vezes se surpreendia ao ver-se nos espelhos dos hotéis por onde passava, porque não esperava encontrar o mesmo rosto que tinha em São Francisco. Deixou também de ver Ichimei. Tinham-se reencontrado por acaso sete anos depois do funeral de Isaac Belasco e catorze antes de se ter manifestado a doença de Nathaniel, na exposição anual da Sociedade de Orquídeas, entre milhares de visitantes.
Ichimei viu-a primeiro e aproximou-se para a cumprimentar. Estava sozinho. Falaram das orquídeas — havia dois exemplares do viveiro na exposição — e depois foram almoçar a um restaurante próximo. Começaram a falar disto e daquilo: Alma das suas viagens recentes, dos seus novos desenhos e do filho Larry; Ichimei das suas plantas e dos filhos, Miki de dois anos e Peter, um bebé de oito meses. Não mencionaram Nathaniel nem Delphine. O almoço prolongou-se por três horas sem interrupções, tinham muitas coisas para contar um ao outro e fizeram-no com incerteza e cautela, sem voltar ao passado, como se deslizassem sobre gelo quebradiço, estudando-se mutuamente, notando as mudanças, tentando adivinhar as intenções, conscientes da ardente atração que permanecia intacta. Ambos tinham feito trinta e sete anos; ela aparentava mais, as suas feições tinham-se acentuado, estava mais magra, angulosa e segura de si mesma, mas Ichimei não tinha mudado, tinha o mesmo aspeto de adolescente sereno de antes, a mesma voz baixa e modos delicados, a mesma forma de a invadir até à última das suas células com a sua intensa presença. Alma conseguia ver o rapaz de oito anos na estufa de Sea Cliff, o de dez que lhe entregou o gato antes de desaparecer, o amante incansável do motel das baratas, o homem de luto no funeral do sogro dela, todos iguais como imagens sobrepostas em papel transparente. Ichimei era imutável, eterno. O amor e desejo que sentia por ele queimavam-lhe a pele, queria esticar as mãos por cima da mesa e tocar-lhe, aproximar-se, afundar o nariz no pescoço dele e verificar se ainda cheirava a terra e a ervas, dizer-lhe que sem ele vivia sonâmbula, que nada nem ninguém podia preencher o terrível vazio da sua ausência, que daria tudo para voltar a estar nua nos seus braços, nada importava senão ele. Ichimei acompanhou-a até ao carro. Foram caminhando lentamente, procurando justificações para atrasar o momento da separação. Usaram o elevador para chegar ao terceiro andar do estacionamento, ela tirou a chave e ofereceu-se para o levar até ao veículo dele, que estava apenas a pouco mais de cem metros de distância, ele aceitou.
Na íntima escuridão do carro beijaram-se, reconhecendo-se.
Nos anos seguintes iriam manter o seu amor num compartimento separado do resto das suas vidas e vivê-lo-iam intensamente, sem permitir que beliscasse Nathaniel e Delphine. Quando estavam juntos, nada mais existia, e no momento da despedida no hotel onde acabavam de saciar o seu desejo ficava implícito que não voltariam a contactar-se até ao encontro seguinte, exceto por carta. Alma guardava essas cartas como um tesouro, embora aí Ichimei mantivesse o tom reservado próprio da sua raça, que contrastava com as suas delicadas provas de amor e os seus ímpetos de paixão quando estavam juntos. A demonstração de sentimentos envergonhava-o profundamente, a sua forma de os manifestar era preparar um piquenique para ela em preciosas caixas de madeira, enviar-lhe gardênias, porque ela gostava daquela fragância, que nunca usaria numa água de colônia, preparar-lhe chá cerimoniosamente, dedicar-lhe poemas e desenhos. Às vezes, em privado, chamava-lhe «minha miúda», mas não o punha por escrito. Alma não precisava de dar explicações ao marido, porque faziam vidas independentes, e nunca perguntou a Ichimei como fazia para manter Delphine na ignorância, já que conviviam e trabalhavam lado a lado. Sabia que ele amava a mulher, que era um bom pai e um homem de família, que tinha um estatuto especial na comunidade japonesa, onde era considerado um mestre e procurado para aconselhar os desgarrados, reconciliar os inimigos e servir de árbitro justo nas disputas. O homem do amor calcinante, das invenções eróticas, do riso, das brincadeiras e dos jogos entre lençóis, da urgência e da voracidade e da alegria, das confidências sussurradas nas pausas entre dois abraços, dos beijos intermináveis e da intimidade mais delirante, esse homem apenas existia para ela.
As cartas começaram a chegar depois do seu encontro entre as orquídeas e intensificaram-se quando Nathaniel adoeceu. Durante um período interminável para eles, essa correspondência substituiu os encontros clandestinos. As cartas de Alma eram cruas e angustiadas, próprias de uma mulher aflita com a separação; as de Ichimei eram como a água tranquila e cristalina, mas nas entrelinhas palpitava a paixão partilhada. Para Alma, essas cartas revelavam o rico mundo interior de Ichimei, as suas emoções, os sonhos, as nostalgias e os ideais; teve a possibilidade de o conhecer e de o amar e desejar mais por causa dessas missivas do que por causa dos seus devaneios amorosos. As cartas tornaram-se tão indispensáveis para ela que quando ficou viúva e livre, quando podiam falar ao telefone, ver-se com frequência e até viajar juntos, continuaram a escrever um ao outro. Ichimei cumpriu escrupulosamente o acordo que tinham feito de destruir as cartas, mas Alma guardou as dele para as reler.
18 de junho de 1984
“Sei como estás a sofrer e tenho pena de não poder ajudar-te. Enquanto estou aqui a
escrever, sei que estás angustiada a gerir a doença do teu marido. Isso é uma coisa que não podes controlar, Alma, apenas podes acompanhá-lo com muita coragem.
A nossa separação é muito dolorosa. Estamos habituados às nossas quintas-feiras sagradas, aos jantares privados, aos passeios no parque, às breves aventuras de fim de semana.
Porque é que o mundo me parece sem cor? Os sons chegam-me de longe, como que em surdina, a comida sabe-me a sabão. Tantos meses sem nos vermos! Comprei a tua água de colônia para sentir o teu cheiro. O meu consolo é escrever poesia que um dia te vou dar, porque é para ti.
E tu acusas-me de não ser romântico!
De pouco me têm servido os anos de prática espiritual se não consigo despojar-me do desejo. Espero pelas tuas cartas e pela tua voz ao telefone. Imagino que chegas a correr... Às vezes o amor dói.”
Ichi
Nathaniel e Alma ocupavam os dois quartos que tinham sido de Lillian e de Isaac, ligados por uma porta que, de tanto permanecer aberta, já não se conseguia fechar. Como nos primeiros tempos de casados, voltaram a partilhar a insônia, muito juntos no sofá ou na cama, ela a ler, com um livro numa mão e com a outra a acariciar Nathaniel, enquanto ele descansava com os olhos fechados, a respirar com um gorgolejo no peito. Numa dessas longas noites surpreenderam-se a chorar ambos em silêncio, para não incomodarem o outro. Primeiro Alma sentiu as faces úmidas do marido e ele notou imediatamente as lágrimas dela, tão raras que se ergueu para saber se eram reais. Não se lembrava de a ter visto chorar nem nos momentos mais amargos.
— Estás a morrer, não é? — murmurou ela.
— Sim, Alma, mas não chores por mim.
— Não estou a chorar só por ti, mas também por mim. E por nós. Por tudo aquilo que não te disse, pelas omissões e pelas mentiras, pelas traições e pelo tempo que te roubei.
— Ó meu Deus, não digas isso! Não me traíste por amar Ichimei, Alma. Há omissões e mentiras necessárias, como existem verdades que é preferível calar.
— Sabes de Ichimei? Desde quando? — perguntou ela, surpresa.
— Sempre soube. O coração é grande, pode-se amar mais do que uma pessoa.
— Fala-me de ti, Nat. Nunca indaguei sobre os teus segredos, que imagino devem ser muitos, para não ter de te revelar os meus.
— Amámo-nos tanto, Alma! Os homens deviam sempre casar-se com a melhor amiga. Conheço-te como ninguém. O que não me disseste, consigo adivinhá-lo; mas tu não me conheces. Tens o direito de saber quem sou eu verdadeiramente.
E então falou-lhe de Lenny Beal. No resto dessa longa noite em branco contaram tudo um ao outro com a urgência de quem sabe que já não lhes resta muito tempo juntos.
Desde que se lembrava, Nathaniel sentira sempre uma mistura de fascínio, temor e desejo por pessoas do seu sexo, primeiro pelos colegas da escola, depois por outros homens e finalmente por Lenny, que fora o seu companheiro durante oito anos. Lutara contra esses sentimentos, dividido entre os impulsos do coração e a voz implacável da razão. Na escola, quando ele próprio não conseguia identificar o que sentia, os outros rapazes sabiam no seu íntimo que ele era diferente e castigavam-no com agressões, piadas e ostracismo. Esses anos, preso entre valentões, foram os piores da sua vida. Quando terminou os estudos, à solta entre os impulsos e a fogosidade incontrolável da juventude, percebeu que não era uma exceção, como pensava; em todo o lado encontrava homens que o olhavam diretamente nos olhos com um convite ou uma súplica. Foi iniciado por outro aluno de Harvard. Descobriu que a homossexualidade era um mundo paralelo, que coexistia com a realidade aceite. Conheceu indivíduos de muitas classes. Na universidade: professores, intelectuais, estudantes, um rabino e um jogador de futebol; na rua: marinheiros, operários, burocratas, políticos, comerciantes e delinquentes.
Era um mundo abrangente, promíscuo e ainda assim discreto, porque enfrentava o julgamento categórico da sociedade, da moral e da lei. Os gays não eram admitidos nos hotéis, nem nos clubes nem nas igrejas, não lhes eram servidas bebidas nos bares e podiam ser expulsos dos lugares públicos, acusados com ou sem razão por conduta desordeira; os bares e os clubes gays pertenciam à máfia. De regresso a São Francisco, com o diploma de advogado debaixo do braço, deparou-se com os primeiros sinais de uma emergente cultura gay, que não se chegaria a mostrar abertamente senão vários anos mais tarde. Quando começaram os movimentos sociais da década de sessenta, entre eles a Libertação Gay, Nathaniel estava casado com Alma e o filho Larry tinha dez anos. «Não casei contigo para dissimular a minha homossexualidade, mas por amizade e por amor», disse a Alma nessa noite. Foram anos de esquizofrenia: tinha uma vida pública irrepreensível e de êxito, outra vida ilícita e escondida. Conheceu Lenny Beal em 1976 num banho turco para homens, o lugar mais propício para excessos e o menos propício para iniciar um amor como o deles.
Nathaniel ia fazer cinquenta anos e Lenny era seis anos mais novo, belo como as divindades masculinas das estátuas romanas, irreverente, entusiasta e pecaminoso, em termos de carácter o oposto de Nathaniel. A atração física foi instantânea. Fecharam-se num dos cubículos e estiveram até ao amanhecer perdidos no prazer, atacando-se um ao outro como lutadores e chafurdando juntos na confusão e no delírio dos corpos. Marcaram encontro para o dia seguinte num hotel, onde chegaram separados. Lenny levou marijuana e cocaína, mas Nathaniel pediu-lhe para não as usarem, queria viver aquela experiência com todos os sentidos despertos. Uma semana mais tarde, já sabiam que aquele impulso de desejo fora apenas o início de um amor colossal e sucumbiram sem resistência ao imperativo de o viverem plenamente.
Alugaram um estúdio no centro da cidade que mobilaram com o mínimo indispensável de móveis e a melhor aparelhagem de música, assumindo o compromisso de que apenas eles poriam lá os pés. Nathaniel concluiu a busca iniciada trinta e cinco anos antes, mas aparentemente nada mudou na sua vida: continuou a ser o mesmo burguês exemplar; ninguém suspeitou do que se passava com ele nem percebeu que as horas que passava no escritório e as que dedicava ao desporto tinham sofrido uma redução drástica. Por seu lado, Lenny mudou sob a influência do amante. Assentou pela primeira vez na sua errática existência e atreveu-se a substituir o ruído e a atividade demencial pela contemplação da felicidade recém-descoberta. Quando não estava com Nathaniel, estava a pensar nele. Não voltou a frequentar casas de banho ou clubes gays; os amigos raramente conseguiam tentá-lo com alguma festa, não lhe interessava conhecer mais ninguém, porque Nathaniel preenchia-o, era o sol, o centro dos seus dias. Instalou-se no sossego desse amor com devoção de puritano. Adotou a música, a comida e as bebidas preferidas de Nathaniel, as suas camisolas de caxemira, o seu sobretudo de lã de camelo, a sua loção de barbear. Nathaniel instalou uma linha telefônica pessoal no gabinete, cujo número apenas era utilizado por Lenny, e era desse modo que se contactavam; iam passear de veleiro, faziam viagens, encontravam-se em cidades distantes, onde ninguém os conhecia. No início, a incompreensível doença de Nathaniel não impediu o vínculo com Lenny; os sintomas eram diversos e esporádicos, iam e vinham sem causa nem relação aparente. Mais tarde, quando Nathaniel foi desaparecendo e ficou reduzido a um espectro daquilo que fora, quando foi obrigado a aceitar as suas limitações e a pedir ajuda, acabaram as diversões. Perdeu a vontade de viver, sentiu que à sua volta tudo era pálido e ténue, deixou-se levar pela nostalgia do passado, como um ancião, arrependido de algumas coisas que fez e de muitas que não conseguiu fazer.
Sabia que a vida lhe fugia velozmente e tinha medo. Lenny não o deixava entrar em depressão, apoiava-o com falsa boa disposição e com a firmeza do seu amor, que nesses tempos de provação só foi aumentando cada vez mais. Encontravam-se no pequeno apartamento para se consolarem um ao outro. Nathaniel não tinha forças nem desejo para fazer amor, mas Lenny não lho pedia, contentava-se com os momentos de intimidade em que podia tranquilizá-lo quando tiritava de febre, dar-lhe iogurte com uma colherzinha de bebé, deitar-se ao lado dele a ouvir música, esfregar-lhe as escaras com bálsamo, segurá-lo na sanita. Por último, Nathaniel já não podia sair de casa e Alma assumiu o papel de enfermeira com a mesma ternura perseverante de Lenny, mas ela era só a amiga e a esposa, enquanto Lenny era o seu grande amor. Assim o entendeu Alma nessa noite das confidências.
Ao amanhecer, quando finalmente Nathaniel conseguiu dormir, ela procurou o número de Lenny Beal na lista e telefonou-lhe para lhe suplicar que a fosse ajudar. Juntos poderiam suportar melhor a angústia daquela agonia, disse-lhe. Lenny levou menos de quarenta minutos a chegar. Alma, ainda em pijama e robe, abriu-lhe a porta. Ele encontrou-se diante de uma mulher devastada pela insônia, a fadiga e o sofrimento; ela viu um homem bonito, com o cabelo úmido do duche recente e com os olhos mais azuis do mundo, tingidos de vermelho.
— Sou Lenny Beal, minha senhora — balbuciou comovido.
— Chame-me Alma, por favor. Esta é a sua casa, Lenny — replicou ela.
Ele quis estender-lhe a mão, mas não conseguiu completar o gesto e abraçaram-se, trémulos.
Lenny começou a visitar diariamente a casa de Sea Cliff, depois do seu trabalho na clínica dentária. Disseram a Larry e a Doris, aos empregados, aos amigos e aos conhecidos que os visitavam que Lenny era um enfermeiro.
Ninguém fez perguntas. Alma contactou um carpinteiro, que arranjou a porta emperrada do quarto, e deixava-os a sós. Sentia um profundo alívio quando o olhar do marido se iluminava ao ver aparecer Lenny. À hora do crepúsculo os três tomavam chá com pãezinhos ingleses e às vezes, quando Nathaniel estava bem-disposto, jogavam às cartas. Nessa altura já havia um diagnóstico, o mais assustador de todos: sida. O mal só tinha nome há dois anos, mas já se sabia que era uma condenação à morte; uns caíam antes, outros depois; era apenas uma questão de tempo. Alma não se interrogou por que razão fora Nathaniel, e não Lenny, a ter a doença, mas se o tivesse feito ninguém lhe conseguiria dar uma resposta categórica. Os casos multiplicavam-se a tal velocidade que já se falava numa epidemia mundial e num castigo de Deus por causa da infâmia da homossexualidade. «Sida», pronunciava-se em sussurros, não se podia admitir a sua presença numa família ou numa comunidade, porque era o equivalente a proclamar imperdoáveis perversões. A explicação oficial, inclusive para a família, foi que Nathaniel tinha cancro. Como a ciência tradicional não podia oferecer nada, Lenny foi ao México procurar drogas misteriosas, que de nada serviram, enquanto Alma recorria a todas as promessas da medicina alternativa que conseguia, desde acupuntura, ervas e unguentos de Chinatown até banhos de lodo mágico nas termas de Caligosta. Só nessa altura compreendeu os recursos disparatados de Lillian para curar Isaac e lamentou ter posto para o lixo a estatuazinha do barão de Samedi.
Nove meses mais tarde, o corpo de Nathaniel estava reduzido ao esqueleto, o ar quase não penetrava no labirinto obstruído dos seus pulmões, tinha uma sede insaciável e chagas na pele, não tinha voz e a sua mente divagava em terríveis delírios. Então, num domingo de letargia em que estavam sozinhos em casa, Alma e Lenny, de mão dada na escuridão do quarto, suplicaram a Nathaniel que deixasse de lutar e partisse tranquilamente.
Não conseguiam continuar a presenciar aquele martírio. Num instante milagroso de lucidez, Nathaniel abriu os olhos, nublados pela dor, e moveu os lábios formando uma única palavra muda: obrigado. Interpretaram-na como o que na verdade era, uma ordem. Lenny beijou-o nos lábios antes de lhe injetar uma overdose de morfina no saco do soro intravenoso. Alma, de joelhos do outro lado da cama, foi recordando ao marido suavemente o quanto ela e Lenny o amavam e o quanto ele lhes tinha dado a eles e a muitas outras pessoas, dizendo-lhe que seria recordado para sempre, que nada os poderia separar...
Alma e Lenny, partilhando chá de manga e recordações na Lark House, perguntaram a si mesmos porque tinham deixado passar três décadas sem fazerem nenhuma tentativa para retomar o contacto. Depois de fechar os olhos a Nathaniel, de ajudar Alma a arranjar o corpo, para o apresentar o melhor possível a Larry e a Doris, e de eliminar as marcas delatoras do que acabara de acontecer, Lenny despediu-se de Alma e foi embora. Tinham passado meses juntos na intimidade absoluta do sofrimento e da incerteza da esperança, nunca se tinham visto à luz do dia, apenas dentro daquela alcova que cheirava a mentol e a morte muito antes de esta chegar para reclamar Nathaniel. Tinham partilhado noites em branco, a beber uísque aguado, ou a fumar marijuana para minorar a angústia, contando as suas vidas, desenterrando anseios e segredos, e chegaram a conhecer-se profundamente. Nessa parcimoniosa agonia não cabia nenhum tipo de pretensiosismo, revelaram-se tal qual eram a sós consigo mesmos, na sua essência. Apesar disso, ou talvez por isso, chegaram a amar-se com um carinho diáfano e desesperado que exigia uma separação, porque não teria resistido ao irremediável desgaste da vida quotidiana.
— Tivemos uma rara amizade – disse Alma.
— Nathaniel estava tão agradecido por estarmos com ele que uma vez me pediu que casasse contigo quando enviuvasses. Não queria deixar-te desamparada.
— Que ideia fabulosa! Porque é que não mo propuseste, Lenny? Teríamos sido um belo casal. Teríamos feito companhia um ao outro e nos protegeríamos, como Nathaniel e eu.
— Sou gay, Alma.
— Nathaniel também era. Teríamos tido um casamento branco, sem cama; tu com a tua vida amorosa e eu com Ichimei. Seria muito conveniente, já que não podíamos expor os nossos amores em público.
— Ainda vamos a tempo. Queres casar-te comigo, Alma Belasco?
— Mas não disseste que ias morrer em breve? Não quero ficar viúva pela segunda vez.
Desataram a rir com vontade e o riso incentivou-os a ir à cantina ver se a ementa incluía alguma coisa tentadora. Lenny ofereceu o braço a Alma e foram pelo corredor de vidro até ao edifício principal, a antiga mansão do magnata do chocolate, sentindo-se envelhecidos e contentes, perguntando a si mesmos porque é que se falava tanto de tristezas e de mal-estar e não da felicidade. «O que fazemos com esta felicidade que sentimos sem motivos especiais, esta felicidade que não exige nada para existir?», perguntou Alma. Caminhavam com passos curtos e hesitantes, apoiando-se um no outro, arrepiados de frio, porque estava a terminar o outono, aturdidos pela torrente de recordações intensas, recordações de amor, invadidos por aquela felicidade partilhada. Alma indicou a Lenny a visão fugaz de um esvoaçante tule cor-de-rosa no parque. Como estava a escurecer, talvez não fosse Emily a anunciar uma desgraça, mas uma miragem, como tantas na Lark House.
O amante japonês
Na sexta-feira, Irina chegou cedo à Lark House para ir fazer uma visita a Alma antes de começar o seu dia de trabalho. Alma já não precisava dela para se vestir, mas agradecia que a rapariga aparecesse no seu apartamento para partilharem a primeira chávena de chá do dia. «Casa-te com o meu neto, Irina; fazias um favor a todos os Belasco», repetia ela. Irina devia explicar-lhe que não conseguia vencer o terror do passado, mas não era capaz de mencionar nada disso sem morrer de vergonha. Como poderia dizer à avó que os medos da sua memória, habitualmente ocultos em esconderijos, faziam surgir as suas cabeças de lagarto sempre que se preparava para fazer amor com o neto dela. Seth compreendia que não estivesse pronta para falar e deixou de a pressionar para consultarem um psiquiatra; de momento era suficiente ser ele o seu confidente. Podiam esperar. Irina propusera-lhe uma cura radical: verem juntos os vídeos filmados pelo seu padrasto, que ainda andavam por aí e continuariam a andar fazendo com que ela sofresse até ao fim dos seus dias, mas Seth temia que, uma vez soltas, aquelas criaturas retorcidas fossem incontroláveis. A cura dela consistia em avançar pouco a pouco, com amor e humor, por isso iam avançando numa dança de dois passos para frente e um para trás; já dormiam na mesma cama e às vezes acordavam abraçados.
Nessa manhã, Irina não encontrara Alma no apartamento, nem a maleta das suas saídas secretas nem as suas camisas de dormir. Pela primeira vez, também não estava lá o retrato de Ichimei. Calculou que o automóvel não estaria no parque de estacionamento e não se preocupou, porque Alma já tinha força nas pernas e imaginou que Ichimei estaria à espera dela. Não devia andar sozinha.
Ao sábado não trabalhava na Lark House e ficou a dormitar até às nove, luxo a que se podia dar aos fins de semana desde que vivia com Seth e deixara de dar banhos aos cães. Ele despertou-a com uma chávena de café com leite e sentou-se a seu lado na cama para planear o dia. Estava a chegar do ginásio, tinha acabado de tomar banho, trazia o cabelo úmido e vinha ainda agitado devido ao exercício, não podia imaginar que nesse dia não haveria planos com Irina, seria um dia de despedida. O telefone tocou nesse momento com uma chamada de Larry Belasco para dar a notícia ao filho de que o carro da avó se despistara numa estrada rural e caíra por um barranco.
— Está nos cuidados intensivos do Hospital General Marin — disse.
— Em estado grave? — perguntou Seth, aterrado.
— Sim. O carro ficou completamente desfeito. Não sei o que é que a minha mãe andava a fazer por aqueles lados.
— Ia sozinha, pai?
— Sim.
No hospital encontraram Alma consciente e lúcida, apesar das drogas que gotejavam na sua veia e que, de acordo com o médico, teriam derrubado um cavalo. Recebera o impacto do acidente sem nenhuma proteção. Se fosse um veículo mais pesado talvez as consequências fossem menos graves, mas o pequeno Smart verde-limão desfez-se e ela, presa ao assento pelo cinto de segurança, ficou encarcerada. Enquanto o resto da família Belasco se lamentava na sala de espera, Larry explicou a Seth que existia a possibilidade de adotar uma medida extrema: abrir Alma ao meio, colocar os órgãos fora de sítio no seu lugar e mantê-la aberta durante vários dias, até a infeção começar a ceder e ser possível operá-la.
Depois poderia pensar-se em operar os ossos partidos. O risco, que seria enorme numa pessoa jovem, era muito maior numa pessoa com mais de oitenta anos, como Alma; o cirurgião que a recebeu no hospital disse que não seria capaz de o fazer. Catherine Hope, que chegou rapidamente com Lenny Beal, foi de opinião que uma intervenção cirúrgica dessa dimensão seria cruel e inútil; só restava manter Alma o mais confortável possível e esperar pelo seu fim, que não demoraria muito a chegar. Irina deixou a família a discutir com Cathy a hipótese de a trasladar para São Francisco, onde existiam mais recursos, e entrou sigilosamente no quarto de Alma.
— Sente dores? — perguntou num murmúrio. — Quer que telefone a Ichimei?
Alma estava a receber oxigênio, mas respirava sozinha, e fez-lhe um pequeno sinal para que se aproximasse. Irina não quis pensar no corpo ferido debaixo da armação coberta por um lençol; concentrou-se no rosto, que estava intacto e parecia mais belo.
— Kirsten — balbuciou Alma.
— Quer que procure a Kirsten? — perguntou Irina, surpreendida.
— E diz-lhes para não tocarem em mim — acrescentou Alma nitidamente antes de fechar os olhos, exausta.
Seth ligou ao irmão de Kirsten e nessa mesma tarde ele levou-a ao hospital. A mulher sentou-se na única cadeira que havia no quarto de Alma, a aguardar instruções sem pressa, como fizera pacientemente no atelier durante os meses anteriores, antes de começar a trabalhar com Catherine Hope na clínica da dor. Por momentos, com os últimos raios de sol na janela, Alma despertou da letargia das drogas.
Percorreu com o olhar as pessoas que estavam à sua volta, esforçando-se por reconhecê-las: a sua família, Irina, Lenny e Cathy, e pareceu ficar entusiasmada quando o seu olhar se deteve em Kirsten. A mulher aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão que não estava ligada ao soro e começou a dar-lhe beijos úmidos desde os dedos até ao cotovelo, e a perguntar-lhe, angustiada, se estava doente, se ia melhorar, e a repetir que gostava muito dela. Larry tentou afastá-la, no entanto Alma indicou-lhe de forma débil que as deixassem a sós.
Na primeira e na segunda noite de vigília Larry, Doris e Seth revezaram-se, mas na terceira Irina percebeu que a família estava no limite das suas forças e ofereceu-se para acompanhar Alma, que não voltara a falar desde a visita de Kirsten e permanecia meio adormecida, arquejando como um cão cansado, desprendendo-se da vida. Não é fácil viver nem é fácil morrer, pensou Irina. O médico garantia que ela não sentia dores, estava sedada até à medula.
A determinada altura, os ruídos do piso foram desaparecendo. No quarto reinava uma penumbra agradável, no entanto os corredores estavam sempre iluminados por lâmpadas potentes e o reflexo azul do ecrã dos computadores da sala das enfermeiras. O zumbido do ar condicionado, a respiração custosa da mulher na cama e de vez em quando uns passos ou vozes discretos do outro lado da porta eram os únicos sons que chegavam até Irina. Tinham-lhe dado uma manta e uma almofada para se acomodar o melhor possível, mas estava calor e era impossível dormir na cadeira. Sentou-se no chão, apoiada na parede, a pensar em Alma, que três dias antes era uma mulher apaixonada que saíra a toda a pressa para se encontrar com o amante e agora estava moribunda no seu último leito. Num breve momento de lucidez, antes de se perder de novo na modorra alucinante das drogas, Alma pediu à rapariga que lhe pintasse os lábios, porque Ichimei viria buscá-la.
Irina sentiu uma terrível tristeza, uma onda de amor por aquela mulher maravilhosa, um carinho de neta, de filha, de irmã, de amiga, enquanto lhe corriam lágrimas pelas faces que lhe umedeciam o pescoço e a blusa. Desejava que Alma partisse de vez para acabar com o seu sofrimento e desejava também que não partisse nunca, que por obra divina os seus órgãos reencontrassem a posição correta e os ossos partidos se solidificassem, que ressuscitasse e que pudessem voltar juntas para a Lark House para continuarem a sua vida como até aí. Ia passar mais tempo com ela, acompanhá-la mais, arrancar-lhe os segredos dos esconderijos onde os guardava, ia arranjar-lhe outro gato igual a Neko e trataria de encontrar forma para que tivesse gardênias frescas todas as semanas, sem lhe dizer quem lhas enviava. Os seus ausentes apareceram em tropel para a acompanharem na dor: os avós cor de terra, Jacques Devine e o seu escaravelho de topázio, os anciãos falecidos na Lark House durante os três anos que lá trabalhara, Neko com a sua cauda retorcida e o ronronar satisfeito, inclusive a mãe, Radmila, a quem já havia perdoado e de quem não voltara a ouvir falar. Quis ter Seth ao seu lado naquele momento, para lhe apresentar as personagens daquele elenco que ele não conhecia e para descansar agarrada à sua mão. Adormeceu no meio da nostalgia e da tristeza, encolhida a um canto. Não ouviu a enfermeira que entrava frequentemente para controlar o estado de Alma, ajustar o gotejo da agulha, medir-lhe a temperatura e a tensão arterial, administrar-lhe sedativos.
Na hora mais escura da noite, a hora misteriosa do tempo impreciso, quando o véu entre este mundo e o dos espíritos costuma desvanecer-se, chegou por fim o visitante que Alma esperava. Entrou sem ruído, com sapatilhas de borracha, tão suavemente que Irina não teria acordado sem o gemido rouco de Alma ao senti-lo aproximar-se. Ichi! Estava ao lado da cama, inclinado sobre ela, mas Irina, que só conseguia ver-lhe o perfil, tê-lo-ia reconhecido em qualquer sítio, em qualquer momento, porque também estava à espera dele.
Era tal qual o tinha imaginado quando observava o seu retrato na moldura de prata, de estatura média e de ombros fortes, o cabelo espetado e cinzento, a pele esverdeada por causa da luz do monitor, o rosto nobre e sereno. Ichimei! Teve a sensação de que Alma abria os olhos e repetia o nome, porém não estava segura e compreendeu que naquela despedida deveriam estar sozinhos. Levantou-se com cuidado, para não os incomodar, e deslizou para fora do quarto, fechando a porta atrás de si. Esperou no corredor, caminhou um pouco para desentorpecer as pernas adormecidas, bebeu dois copos de água do bebedouro que estava ao pé do elevador, depois regressou ao seu lugar de sentinela junto à porta de Alma.
Às quatro da madrugada chegou a enfermeira de serviço, uma negra grande que cheirava a pão aromático, e que se deparou com Irina a bloquear-lhe a entrada. «Por favor, deixe-os sozinhos por mais um bocadinho», suplicou a jovem e começou a falar atropeladamente do amante que tinha vindo acompanhar Alma naquela última travessia. Não podiam interrompê-los. «A esta hora não há visitas», replicou a enfermeira, surpreendida, e sem mais explicações afastou Irina e abriu a porta. Ichimei tinha partido e o ar do quarto estava imbuído da sua ausência. Alma tinha partido com ele.
Na mansão de Sea Cliff, onde vivera quase toda a sua vida, velaram Alma em privado durante algumas horas. O seu simples caixão de pinho foi colocado na sala dos banquetes, alumiado por dezoito velas nas mesmas menorahs de prata maciça que a família usava nas celebrações tradicionais. Embora não fossem praticantes, os Belasco cingiram-se aos ritos funerários de acordo com as instruções do rabino.
Alma dissera muitas vezes que queria ir da cama para o cemitério, não queria rituais na sinagoga. Duas mulheres piedosas do Chaves Kadisha lavaram o corpo e vestiram-no com a humilde mortalha de linho branco sem bolsos, que simboliza a igualdade na morte e o abandono de todos os bens materiais. Irina, como uma sombra invisível, participou no velório atrás de Seth, que parecia enlouquecido de dor, incrédulo perante a súbita partida da sua avó imortal. Esteve sempre um elemento da família junto dela até ao momento de a levarem para o cemitério, para dar tempo ao espírito de se libertar e de se despedir. Não houve flores, que eram consideradas frívolas, mas foi levada uma gardênia para o cemitério, onde o rabino pronunciou uma breve oração:
Dayan Há’met, bendito é o Juiz da Verdade. Baixaram o caixão à terra, junto à tumba de Nathaniel Belasco, e quando os familiares se aproximaram para lhe lançar punhados de terra, Irina deixou cair a gardênia sobre a sua amiga. Nessa noite começou o shiva, os sete dias de luto e reclusão. Larry e Doris, de forma inesperada, pediram a Irina que ficasse com eles para consolar Seth. Tal como os restantes membros da família, Irina colocou um pedaço de pano rasgado, símbolo do luto, no peito.
Ao sétimo dia, depois de terem recebido a fila de visitas que chegavam para apresentar as suas condolências todas as tardes, os Belasco retomaram o ritmo habitual e cada um regressou à sua vida. Um mês após o funeral, acenderam uma vela em nome de Alma e ao fim de um ano fariam uma cerimônia singela para colocar uma placa com o nome dela na sepultura. Nessa altura a maior parte das pessoas que a tinham conhecido quase já não pensaria nela; Alma continuaria a viver nos seus tecidos pintados, na memória obsessiva do neto Seth e nos corações de Irina Bazili e de Kirsten, que nunca chegaria a compreender para onde havia ido. Durante o shiva, Irina e Seth esperaram impacientemente que aparecesse Ichimei Fukuda, mas os sete dias passaram e não o viram.
A primeira coisa que Irina fez depois dessa semana de luto foi ir à Lark House buscar as coisas de Alma. Tivera autorização de Hans Voigt para se ausentar durante alguns dias, mas em breve teria de regressar ao trabalho. O apartamento estava exatamente como Alma o tinha deixado, pois Lupita Farías decidira não fazer a limpeza até que a família o abandonasse. Os escassos móveis, comprados para aquele espaço reduzido mais com intuito utilitário do que decorativo, iriam parar à Loja dos Objetos Esquecidos, exceto o cadeirão cor de alperce, onde o gato passara os seus últimos anos, que Irina decidira dar a Cathy porque esta sempre gostara dele. Colocou a roupa nas malas, as calças largas, as túnicas de linho, os coletes compridos de lã de vicunha, os lenços de seda, perguntando-se quem herdaria tudo aquilo, desejando ser alta e forte como Alma para poder usar a sua roupa, ser como ela para poder pintar os lábios de vermelho e perfumar-se com a sua colônia masculina de bergamota e laranja. Colocou o resto em caixas, que o motorista dos Belasco viria buscar mais tarde. Apercebeu-se de que Alma preparara a sua partida com a serenidade que a caracterizava, libertara-se do supérfluo para ficar apenas com o indispensável, organizara os seus pertences e as suas memórias. Na semana do shiva Irina tivera tempo para a chorar, mas naquela sua tarefa de eliminar a sua presença na Lark House voltou a despedir-se; foi como enterrá-la de novo. Angustiada, sentou-se no meio das caixas e das malas e abriu a maleta que Alma levava sempre nas suas escapadelas, que a polícia recuperara do Smart destruído e que ela trouxera do hospital. Dentro estavam as suas camisas elegantes, os seus cremes, duas mudas de roupa e o retrato de Ichimei na moldura de prata. O vidro estava partido. Retirou com cuidado os pedaços de vidro e tirou a fotografia, despedindo-se também daquele enigmático amante.
E então caiu-lhe no regaço uma carta, que Alma guardara atrás da fotografia.
Estava nisso, quando alguém empurrou a porta entreaberta e espreitou timidamente. Era Kirsten. Irina pôs-se de pé e a mulher abraçou-a com o entusiasmo que sempre colocava nos seus cumprimentos.
— Onde está Alma? — perguntou.
— No céu — foi a única resposta que ocorreu a Irina.
— Quando volta?
— Não vai voltar, Kirsten.
— Nunca mais?
— Não, nunca mais.
Uma sombra de tristeza ou de preocupação perpassou fugazmente pelo rosto inocente de Kirsten. Tirou os óculos, limpou-os com a beira da t-shirt, voltou a pô-los e aproximou a cara de Irina, para a ver melhor.
— Juras que não vai voltar?
— Juro. Mas aqui tens muitos amigos, Kirsten, todos gostamos muito de ti.
A mulher fez-lhe um sinal para que esperasse e afastou-se pelo corredor com o balançar de pés chatos em direção à casa do magnata do chocolate, onde ficava a clínica da dor. Regressou ao fim de quinze minutos com a sua mochila às costas, arquejando com a pressa, que o seu coração excessivamente grande não suportava bem. Fechou a porta do apartamento, colocou o trinco, correu as cortinas com cuidado e fez a Irina o gesto para se calar, levando um dedo aos lábios. Por fim, entregou-lhe a mochila e esperou com as mãos atrás das costas e um sorriso cúmplice, balançando-se nos calcanhares. «Para ti», disse.
Irina abriu a mochila, viu os pacotes presos com elásticos e percebeu imediatamente que eram as cartas que Alma recebera regularmente e que ela e Seth tanto haviam procurado, eram as cartas de Ichimei.
Não estavam perdidas para sempre no cofre de segurança, como tinham temido, mas no lugar mais seguro do mundo, a mochila de Kirsten. Irina compreendeu que Alma, ao perceber que estava moribunda, delegara em Kirsten a responsabilidade de as guardar e indicou-lhe a quem as deveria entregar. Porquê a ela? Porque não ao filho ou ao neto, mas a ela? Interpretou-o como uma mensagem póstuma de Alma, como uma forma de ela lhe dizer o quanto gostava de si, o quanto confiava nela. Sentiu que alguma coisa dentro do seu peito estalava como o som de um cântaro de barro ao cair e o seu coração agradecido crescia, inchava, palpitava como uma anémona translúcida no mar. Perante essa prova de amizade sentiu-se respeitada como nos tempos da inocência; os horrores do seu passado começaram a desvanecer-se e o imenso poder dos vídeos do seu padrasto foi-se reduzindo à sua dimensão real: despojos para seres anônimos, sem identidade nem alma, impotentes.
— Oh, meu Deus, Kirsten. Imagina só, levo mais de metade da minha vida com medo de nada.
— Para ti — repetiu Kirsten, apontando o conteúdo da sua mochila espalhado no chão.
Nessa tarde, quando Seth regressou ao seu apartamento, Irina rodeou-lhe o pescoço com os braços e beijou-o com uma alegria renovada, que naqueles dias de luto parecia pouco adequada.
— Tenho uma surpresa para ti, Seth — anunciou.
— Eu também tenho uma para ti. Mas dá-me primeiro a tua.
Impaciente, Irina guiou-o até à mesa grande da cozinha, onde estavam os pacotes da mochila.
— São as cartas de Alma, estava à tua espera para as abrir. Os pacotes estavam numerados, desde o um até ao onze.
Cada um continha dez envelopes, exceto o primeiro, que tinha seis cartas e alguns desenhos. Sentaram-se no sofá e deram-lhes uma vista de olhos pela ordem em que a dona os tinha deixado. Eram cento e catorze missivas, algumas breves, outras mais extensas, umas mais informativas do que outras, assinadas simplesmente Ichi. As do primeiro envelope, escritas a lápis em folhas de caderno, com letra infantil, eram de Tanforan e Topaz e estavam tão censuradas que se perdia o significado. Nos desenhos já se conseguia vislumbrar o estilo depurado de traços firmes do quadro que acompanhara Alma na Lark House. Seriam necessários vários dias para ler toda aquela correspondência, mas na vista de olhos rápida que tinham dado viram que o resto das cartas estava datado de diferentes momentos a partir de 1969; eram quarenta anos de correspondência irregular com uma constante: eram mensagens de amor.
— Encontrei também uma carta datada de 2010 por trás do retrato de Ichimei. Mas todas estas cartas são antigas e estão endereçadas à casa dos Belasco em Sea Cliff. Onde estão as que recebeu nos últimos anos na Lark House?
— Penso que são estas, Irina.
— Não compreendo.
— A minha avó colecionou durante toda a vida as cartas de Ichimei que recebia em Sea Cliff, porque foi lá que sempre viveu. Depois, quando se mudou para viver na Lark House, começou a enviar as cartas a si mesma de tempos a tempos, uma a uma, nos envelopes amarelos que tu e eu vimos. Recebia-as e guardava-as como se fossem novas.
— Porque é que ela ia fazer uma coisa dessas, Seth? Alma estava no seu juízo perfeito. Nunca deu mostras de senilidade.
— O extraordinário é isso, Irina. Fê-lo conscientemente e com sentido prático, para manter viva a ilusão do grande amor da sua vida. Essa velha, que parecia feita de material indestrutível, no fundo era uma incurável romântica.
Tenho a certeza de que também enviava a si mesma as gardênias semanais e que as suas escapadelas não eram com o seu amante; ia sozinha até à cabana de Point Reyes para reviver os encontros do passado, vivê-los em sonhos, já que não os podia partilhar com Ichimei.
— E porque não? Regressava de estar lá com ele quando aconteceu o acidente. Ichimei foi ao hospital despedir-se dela, vi-o beijá-la, sei que se amavam, Seth.
— Não podes tê-lo visto, Irina. Pareceu-me estranho que esse homem não fizesse caso do falecimento da minha avó, já que a notícia saiu nos jornais. Se a amava tanto como imaginamos, teria de ter aparecido no funeral ou de nos apresentar as suas condolências no shiva. Hoje mesmo decidi ir procurá-lo, queria conhecê-lo e esclarecer algumas dúvidas sobre a minha avó. Foi muito fácil, apenas tive de ir ao viveiro dos Fukuda.
— Ainda existe?
— Sim, é gerido por Peter Fukuda, um dos filhos de Ichimei. Quando lhe disse o meu apelido recebeu-me muito bem, porque conhecia a família Belasco, e foi chamar a sua mãe, Delphine. A senhora é muito amável e bonita, tem um desses rostos asiáticos que parecem não envelhecer nunca.
— É esposa de Ichimei, Alma contou-nos que a conheceu no funeral do teu bisavô.
— Não é a esposa de Ichimei, Irina, é a viúva. Ichimei morreu há três anos com um enfarte.
— Isso é impossível, Seth! — exclamou ela.
— Morreu mais ou menos na altura em que a minha avó foi viver para a Lark House. Possivelmente as duas coisas estão relacionadas. Penso que essa carta de 2010, a última que Alma recebeu, foi a sua despedida.
— Eu vi Ichimei no hospital!
— Viste o que desejavas ver, Irina.
— Não, Seth. Tenho a certeza de que era ele. O que aconteceu foi que, de tanto amar Ichimei, Alma conseguiu que ele a viesse buscar.
Isabel Allende
O melhor da literatura para todos os gostos e idades














