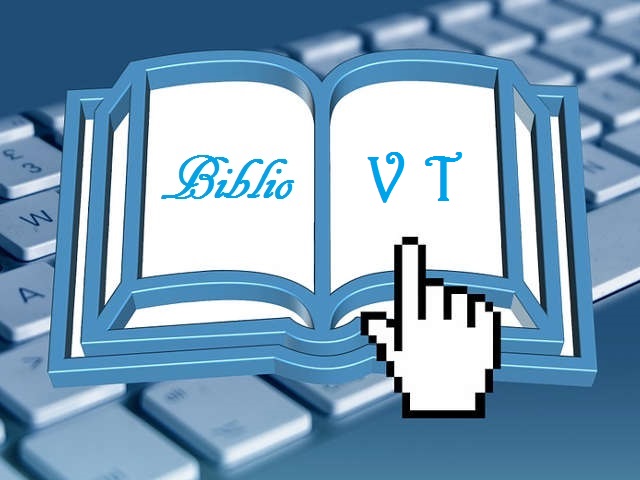

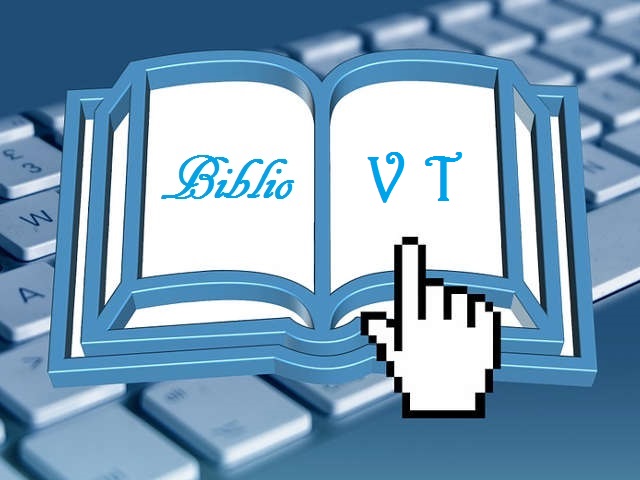

Biblio "SEBO"

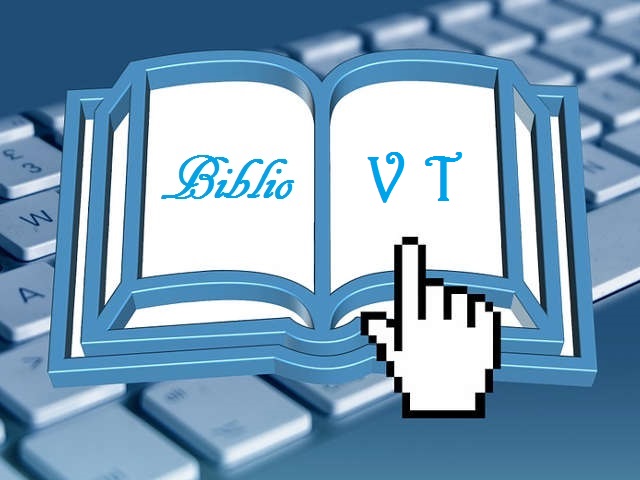

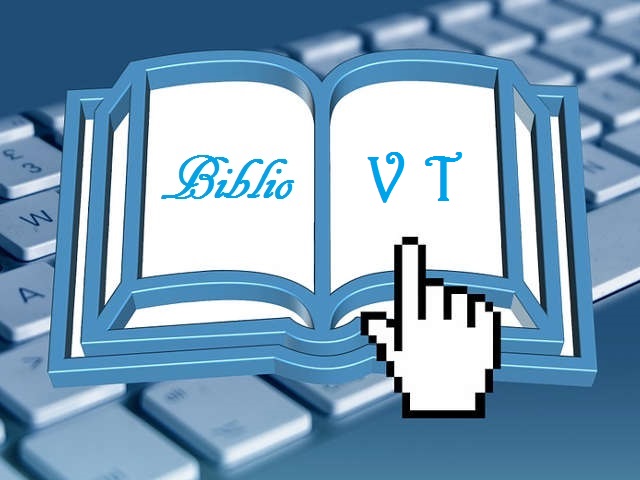
- 1951 - “A VIDA COMO ELA É...”
“Você vai sair daí, já, já, e voltar para casa! Senão eu atiro os nossos filhos pela janela!”
Era Elza, dentro da “garçonnière” de Nelson e Pompeu de Souza no edifício Pitaguary, num belo dia de 1950. Tocara a campainha e, quando Nelson abrira sem perguntar quem era, ela entrara pela porta como um tufão, com os atarantados Joffre, oito anos, e Nelsinho, quatro, pela mão. Era uma cena da futura “A vida como ela é...”, só que para valer, e tendo o próprio autor como protagonista. Nonoca trancou-se lá dentro, assustada, e não apareceu, enquanto Elza dizia para Nelson todas as verdades que se dizem nessas memoráveis ocasiões. Ele ouviu em silêncio tudo o que tinha de ouvir e deixou-se conduzir de volta para casa, quase pela orelha. Seu romance com Nonoca terminara.

Nelson sempre fora da opinião de que “não se abandona nem uma namorada”. Quanto mais a própria mulher — e, neste caso (mas só neste caso), justificava-se abandonar a namorada. Mas, quarenta mil anos antes do Paraíso, estava escrito que aquele romance não tinha futuro. Nelson era dos que se casavam para sempre e Nonoca não se conformava em ser a “outra”. Sem chances de tê-lo pelas 24 horas do dia — para servir-lhe gelatina, cortar-lhe as unhas dos pés e usar uma aliança no dedo — um dia ela acabaria tomando a iniciativa de romper, nem que isso levasse outros quarenta mil anos. Mas Nelson nunca iria separar-se de Elza, principalmente depois do que acontecera a Joffre no ano anterior. Seu filho pegara sua tuberculose.
Por mais que tivessem tudo de Nelson separado, por mais visível que fosse o “X” em cada um de seus talheres e toalhas — Joffre fora contaminado.
No começo, não quiseram acreditar, podia ser outra coisa. As vertigens, a febre e o emagrecimento de Joffre eram parecidos, mas as chapas do doutor Pitanga não confirmavam. E, assim como tinham feito com Nelson quando jovem, Joffre também foi submetido ao cruel tratamento de tentativa e erro para ver se o curavam. Primeiro, extraíram-lhe alguns dentes — os molares definitivos. Depois, extirparam-lhe o apêndice. E só então levaram-no a novos exames. A chapa revelou a mancha no pulmão. Mas o ano era 1949 e já havia a estreptomicina. Joffre tomou milhões de unidades do medicamento. As agulhas lembravam aquelas para cavalos e as injeções nos braços, pernas e nádegas eram lentas e quase insuportáveis. O garoto se recuperou, mas quem garantia que não recaísse? E se acontecesse também com Nelsinho? E se ele, Nelson, não estivesse em casa?
Ainda sustentou por um ano seu romance com Nonoca, mas, depois da cena com Elza, Nonoca é que não iria querê-lo. Nelson desfez a sociedade com Pompeu na “garçonnière” e, com a moral coberta de sargaços, reassumiu a rotina de voltar cedo para casa, com 250 gramas de manteiga numa das mãos e “O Globo” na outra. E, durante os muitos meses de desemprego, em que saía pouco de casa, temperou sua depressão com uma adesão convicta às pequenas delícias do lar.
Até que Samuel Wainer convidou-o para um jornal que iria lançar dentro de algumas semanas e que se chamaria “Última Hora” — um titulo que um dia havia pertencido a seu pai. O jornal já tinha data marcada para sair: 12 de junho de 1951.
As pessoas repararam em Nelson quando ele entrou pela primeira vez na redação de “Última Hora”: terno de linho azul-pérola amarrotado, gravata frouxa, camiseta regata por baixo da camisa social de manga curta. Tinha um jeito engraçado de andar, como se gingasse. Parado, lembrava um joão-teimoso. Quando tirou o paletó, revelaram-se os suspensórios, fininhos, de plástico. Daquela e de outras vezes, chegou de guarda-chuva. Conversava pendurado na pessoa, rodando o chaveiro. Quando se juntava uma rodinha de estranhos na redação, puxava um colega pela manga e sussurrava:
“Diz que eu sou o Nelson Rodrigues!”
Sua figura fazia um pitoresco contraste com aquela redação moderna, de estúdio de cinema, com móveis de alumínio, jardim de inverno e dois murais de Di Cavalcanti. No futuro, a sala de Samuel Wainer seria um caixote de vidro — o primeiro “aquário” de um jornalista brasileiro, de onde ele poderia ver e ser visto. E havia gente que ia à “Última Hora” só para ficar admirando, de longe, Samuel Wainer, como se ele fosse a rainha de Sabá. Era em tudo diferente das redações antigas, quase seculares, a que Nelson estava habituado. O próprio prédio, apesar de ter apenas quatro andares, destacava-se entre as cabeças-de-porco da avenida Presidente Vargas, em frente ao edifício “Balança, mas não cai”.
Mas só o jornal era obra de Samuel Wainer. Tudo o mais no prédio fora um sonho de José Eduardo Macedo Soares, o proprietário do “Diário Carioca”. Dois anos antes, o “Diário Carioca” mudara-se da praça Tiradentes e construíra ali, na Presidente Vargas, a sua sede própria. Em sua casa nova, iria promover uma revolução na imprensa brasileira, adotando a técnica americana de uniformizar os textos e implantando a novidade do “copy-desk” — o redator encarregado de escoimar as matérias de verbos como, por exemplo, escoimar. Ninguém mais podia ser literato na redação, a não ser em textos assinados, e olhe lá. As reportagens do “Diário Carioca” tinham de ser objetivas e, logo nas primeiras linhas, dizer quem, quando, onde, por que e como o homem mordera o cachorro. Se fosse o contrário (mesmo que atendidas as exigências do o que, quem, quando, onde, por que e como), não interessava. Isso chamava-se “lead” — no fundo, um simples qui, quae, quod com Ph.D. em Chicago.
A revolução do “lead” e do “copy-desk” fora implantada no “Diário Carioca” por Danton Jobim, diretor do jornal, e Pompeu de Souza, redator-chefe, e ameaçava espalhar-se pelos outros jornais. Danton era um velho amigo de Nelson desde “A Manhã” e “Crítica”; e Pompeu, ainda seu comparsa de “garçonnière”. Isso não impediu Nelson de reagir contra a instituição do “copy-desk”. A busca da “objetividade” significava a eliminação de qualquer bijuteria verbal, de qualquer supérfluo, entre os quais os pontos de exclamação das manchetes — como se o jornal não tivesse nada a ver com a notícia. Suponha que o mundo acabasse. O “Diário Carioca” teria de dar essa manchete sem um mínimo de paixão. Nelson, passional como uma viúva italiana, achava aquilo um empobrecimento da notícia e passou a considerar os “copy-desks” os “idiotas da objetividade”.
“Se o ‘copy-desk’ já existisse naquele tempo”, dizia, “os Dez Mandamentos teriam sido reduzidos a cinco.”
Nelson admitia que a imprensa do passado — a imprensa de seu pai — cometia excessos. (Certas manchetes antigas tinham três pontos de exclamação!) Mas esfriar a noticia daquele jeito, como queriam os “copy-desks”, pressupunha que os leitores tivessem uma alma de mármore, o que não era verdade.
Além disso, Nelson sabia muito bem que os jornais e os jornalistas só eram “objetivos e imparciais” de araque.
O único jornalista objetivo e imparcial que conhecia era Otto Lara Resende, que, numa disputa recente entre “O Globo” e o “Diário de Noticias” por causa de umas histórias em quadrinhos, conseguira ver os dois lados da coisa. E só porque trabalhava nos dois jornais. Chegava de manhã a “O Globo” e escrevia um editorial desancando o “Diário de Notícias”. Saía dali, almoçava tranqüilamente no “Reis”, na avenida Almirante Barroso, ia para o “Diário de Notícias” e respondia ao seu próprio editorial, desancando “O Globo”. Otto jurava que não fazia isso, mas os amigos, entre os quais Nelson, atribuíam a negação à sua modéstia mineira.
Quase todos os primeiros “copy-desks” eram amigos de Nelson, o que tornava suas provocações ainda mais saborosas. Um deles, Moacyr Werneck de Castro, fingiu suspirar fundo e admitiu para Nelson:
“Eu sou um ‘idiota da objetividade’.”
Mas o “Diário Carioca” estava mal das pernas. Não por culpa dos “copy-desks”, mas por erros de planejamento e pelo custo daquela sede digna do rei Farouk na Presidente Vargas. A empresa devia as calças ao Banco do Brasil e as máquinas estavam penduradas na Caixa Econômica. Horácio de Carvalho era agora o mandachuva do jornal. Quando Samuel Wainer resolveu fazer “(Última Hora” em março de 1951, a penúria do “Diário Carioca” foi para ele uma mão na luva. Entendeu-se com Horácio de Carvalho, assumiu suas dívidas, deu-lhe mais algum dinheiro e ficou com o prédio e as máquinas do “Diário Carioca” para “Última Hora”.
De onde o teso Samuel tirou dinheiro para isso? Criando uma empresa, a “Érica”, e vendendo cotas ao empresário paulista Euvaldo Lodi e aos banqueiros Walther Moreira Salles e Ricardo Jafet. Como o mundo era muito pequeno, Jafet era também presidente do Banco do Brasil, donde as dívidas do “Diário Carioca” para com o banco (e que agora eram de Samuel) foram amortizadas sem dor. E, como Samuel confessaria em sua autobiografia, até Juscelino Kubitschek, governador de Minas, arranjou-lhe dinheiro para começar o jornal.
E por que não? Afinal, Samuel tinha o melhor avalista possível na ocasião: Getúlio Vargas, de volta ao Catete e precisando de um jornal que gostasse dele. Todos os outros já tinham prometido que iriam mostrar-lhe a língua.
Rasgando dinheiro, Samuel Wainer armou sua equipe em “Última Hora” pagando o triplo dos salários praticados pelos outros jornais — os quais eram tão vis que obrigavam os jornalistas a ter dois ou três empregos. Com aqueles salários, os jornalistas de Samuel poderiam dedicar-se exclusivamente à “Última Hora” — e, claro, a um emprego público. João Etcheverry era o superintendente, Otávio Malta o editor-chefe. Entre repórteres e redatores, a redação era um pomar de talentos: Francisco de Assis Barbosa, Moacyr Werneck, Otto Lara, Edmar Morei, Maneco Müller (Jacinto de Thormes). Para criar o projeto gráfico, Samuel foi a Buenos Aires buscar Guevara, que ressuscitou em "Última Hora" algumas das idéias que aplicara em "Crítica": a foto grande, estourada, na primeira página, e as ilustrações recortadas com os textos recorridos. E Guevara foi a Vila Isabel buscar Nássara, agora mais famoso como o autor das marchinhas "Formosa" (com J. Rui), "Alá-la-ô" (com Haroldo Lobo) e "Rei zulu" (com Antônio Almeida). Outros dois grandes chargistas contratados eram Augusto Rodrigues, primo de Nelson, e Lan.
O esporte, Samuel Wainer também entregou a um Rodrigues: Augustinho, que ele tirou de "O Globo" oferecendo-lhe quatro vezes mais. E, como o mundo era mesmo muito pequeno, Augustinho, com aprovação de Samuel, levou seus irmãos: Paulinho, como repórter – e Nelson, como redator. E, menos de um ano depois, as seis irmãs Rodrigues já estariam ocupando o suplemento feminino: Helena, entrevistando os elegantes e as elegantes em voga; Elsinha, fazendo reportagens sobre orfanatos ou pré-nupcial; Dulcinha, recolhendo o que os políticos achavam das mulheres; Irene, tratando de torneios de tênis; Maria Clara, acompanhando o basquete brasileiro feminino ao Peru; e Stella, escrevendo um folhetim, "Três homens no meu destino". Havia dias na redação em que só dona Maria Esther não estava sentada a uma máquina.
O último salário de Nelson em carteira (o de sua passagem quase em branco pelo "O Globo", em 1950) fora de três mil cruzeiros. Entrou em "Última Hora" ganhando dez mil – metade do que ganhava Augustinho, mas que, em relação ao seu baixíssimo prestígio na época, podia ser considerado um salário de príncipe herdeiro.
A 6 de junho, uma semana antes de "Última Hora" ir barulhentamente para as bancas, Nelson estreara uma nova peça, quase em silêncio: "Valsa nº 6", um monólogo estrelado por sua irmã Dulcinha. E bem de acordo com as condições que agora tinha que enfrentar: um único ator em cena e, não por acaso, sua irmã; cenário quase nu (apenas uma cortina vermelha e um piano branco); e que só era leveda uma vez por semana, às segundas-feiras, no Teatro Serrador. Desta vez não teve problemas com a censura. Nem esta lhe dava mais confiança. (E, se tivesse – com Getúlio novamente no Catete -, Vargas Neto voltara a ser influente.)
É certo que Nelson não estava em condições de montar nada maior que um monólogo, mas havia outra razão para ele acreditar em "Valsa nº 6": o espantoso sucesso, em junho do ano anterior, de outro monólogo, "As mãos de Eurídice", de seu amigo Pedro Bloch.
Nelson ia todas as noites para a porta do Teatro Dulcinha, na rua Alcindo Guanabara, estarrecer-se com as filas que "As mãos de Eurídice" devorava, récita após récita. Esperava o espetáculo acabar para se encontrar com Pedro
Bloch e com o astro único da peça, Rodolfo Mayer, na pastelaria defronte ao teatro.
“Quanto deu? Quanto deu?”, perguntava, deslumbrado.
A idéia de uma peça tão barata e tão bem-sucedida era irresistível demais para que ele não tentasse. Um só ator vivendo um elenco inteiro de personagens imaginários! E Nelson queria dar uma peça a sua irmã, que vivia lhe pedindo. Foi isso que o motivou. Mas o que o levou à “Valsa nº 6” propriamente dita, segundo contou a Sábato Magaldi, foi muito mais tocante. Diariamente Nelson lanchava sozinho na “Alvadia”, uma leiteria na Cinelândia. Dos fundos do cinema Império, ao lado, vinham os sons do filme “A noite sonhamos”, em que Cornel Wilde, no papel do tuberculoso Chopin, tocava a dita valsa para uma suspirante George Sand interpretada por Merle Oberon. Enquanto Merle Oberon arfava na tela, Nelson, tomando um “milk-shake”, era inundado por uma sensação de paz e bem-estar inexplicáveis para a cava depressão que o envolvia. Dias depois, deu-se conta de que a causa do enleio era a “Valsa n? 6” que vazava do cinema. E só por isso decidiu transpô-la para o palco.
O monólogo de Nelson nunca poderia ter feito a carreira de “As mãos de Eurídice”, que seria representada até em turco. E por um motivo simples: Nelson não era exatamente Pedro Bloch. Enquanto “As mãos de Eurídice” contava a história de um homem que voltava arrependido para sua mulher, “Valsa nº 6” era a narrativa de uma menina de quinze anos, seduzida e esfaqueada pelo homem que ela amava, aliás casado. Sônia, a menina, já estava morta quando surgia em cena, tocando a valsa ao piano. Suas falas vinham supostamente do túmulo, enquanto ela tentava “lembrar-se do que acontecera”. Com um tema "desagradável” como esse, como Nelson poderia ter o seu monólogo representado em turco?
Teve sorte de ouvi-lo em português. Mesmo reduzindo ao máximo as especificações de cena, nem assim Nelson foi atendido pela produção. Sua cortina vermelha acabou sendo a cortina preta do Teatro Serrador; seu piano branco contentou-se em ser o piano marrom que arranjaram. Fazia uma grande diferença numa peça com tão poucos elementos. O cenário involuntariamente fúnebre tornou ainda mais pesado o solilóquio da menina morta e impediu que a platéia atentasse para a intensidade poética das falas — e “Valsa nº 6” era, na essência, um poema dramático. A direção de madame Henriette Morineau não foi também das mais elogiadas. Miroel Silveira, na “Folha da Noite”, protestou contra a iluminação abundante e se perguntou o que seria a peça nas mãos de Ziembinski, com aqueles efeitos de luz que só o gênio polonês conseguia inventar.
Dulce Rodrigues tinha 21 anos quando fez “Valsa nº 6”. Sua interpretação foi elogiada por Sábato, Miroel, Paschoal Carlos Magno, Dinah Silveira de Queiroz e outros que escreveram sobre a peça. Sabiam que era um papel difícil: Dulce tinha de representar, além do seu personagem, o pai, a mãe, o médico da família, a mulher vulgar, o bêbado e o noivo. E nem o mercado carioca pululava de atrizes com as suas qualificações: jovem, bonita e com lições de balé e piano em sua biografia.
Mas, na opinião dos críticos, o fato de a própria Dulce sentar-se e tocar a valsa, todas as vezes que o texto o solicitava, acabou trabalhando contra a peça:
a ação parava quando ela saía de um extremo do palco e caminhava ou dava uma corridinha para o piano. “Valsa nº 6” não chegou para que Dulce deslanchasse sua carreira de atriz. O espetáculo ficou quatro meses em cartaz, mas ia à cena uma única vez por semana e logo às segundas-feiras — dia ingrato, em que nem os atores vão ao teatro.
Nelson dividiu com ela a pequena bilheteria e sentiu-se mais uma vez desiludido. Dinah Silveira de Queiroz achara quase inacreditável que aquela peça “não tivesse sido escrita por uma mulher”. Os críticos haviam “gostado”. Mas ainda não fora desta vez que ele voltara a ser o festejado autor. E, pelos sinais que o mundo lhe mandava, talvez nunca voltasse a ser.
Mas “Última Hora” salvou Nelson Rodrigues — como se, ao se afogar, alguém lhe tivesse atirado uma bóia de cavalinho. Uma bóia azul — a cor do seu logotipo. Dois dias depois de burocraticamente instalado na seção de esportes, Nelson foi chamado à sala de Samuel Wainer. Os dois tinham uma coisa em comum: a tuberculose. Poucos anos antes de “Última Hora”, Samuel também caíra doente. Mas, para sua sorte, numa época em que a estreptomicina, recém-descoberta, não deixava um bacilo vivo no quarteirão. E, como Nelson, Samuel tivera seu tratamento pago pelo patrão: Assis Chateaubriand. A diferença era que, como Samuel vivia dizendo, Chateaubriand não fizera mais do que sua obrigação salvando-lhe a vida.
Samuel Wainer propôs a Nelson escrever uma coluna diária baseada num fato real da atualidade, da área da polícia ou do comportamento. Pagaria por fora. A coluna poderia se chamar “Atire a primeira pedra”. Nelson aceitou mais que depressa, mas sugeriu outro título, “A vida como ela é...” — com as reticências. Muito mais sugestivo, ele achava, e dava um toque de fatalidade, de ninguém-foge-ao-seu.destino. Samuel concordou e Nelson foi escrever a primeira coluna.
O jornal dera na véspera a história do casalzinho que acabara de se casar no Rio e, ainda sujo de arroz, tomara um avião para São Paulo; o teco-teco batera numa casa ao aterrissar e explodira. Na imaginação de Nelson, o casal morrera "antes da primeira noite e antes do primeiro beijo". Foi mostrar a Samuel. Samuel gostou, mas disse que a história era velha, que Nelson ficasse em cima dos assuntos do dia; Paulo Silveira, o chefe de reportagem, passaria-lhe as pautas. Nelson obedeceu à orientação nos primeiros dois dias. No terceiro, começou a inventar ele próprio as histórias. Samuel Wainer levou uma semana para descobrir e, quando descobriu, era tarde: ‘A vida como ela é...” já incendiara a cidade.
Era sempre a história de uma adúltera, como o próprio Nelson confessava. Ou quase sempre — porque Nelson não descobriu o veio de saída. As primeiras histórias passavam-se em lugares ermos, fora do Rio, e com personagens sem o menor “appeal”. Como a que tratava de um acampamento de seringueiros no Acre — 150 homens rudes que há anos não viam uma mulher. As seis únicas mulheres do lugar eram casadas e trancadas a ferrolho por seus maridos, que ameaçavam passar fogo em quem se atrevesse ao menos a olhá-las. E, para cúmulo, uma delas morre. Os homens vão em romaria à casa do viúvo, para “ver” a mulher, mesmo defunta. Quando eles se afastam, o viúvo incendeia a falecida, para que eles não a ataquem no cemitério. Puxa!
Ninguém, nem Nelson, conseguiria sustentar por muito tempo o interesse por essa morbidez sem paisagem e sem verba numa coluna diária. Os jornais precisam ter o sotaque de suas cidades e Nelson não demoraria a abrir os olhos para o filão da ambiência carioca. No que teve o estalo, povoou as 130 linhas diárias de “A vida como ela é...” com um fascinante elenco de jovens desempregados, comerciários e “barnabés”, tendo como cenários a Zona Norte, onde eles viviam; o Centro, onde trabalhavam; e, esporadicamente, a Zona Sul, aonde só iam para prevaricar.
Na cabeça desses personagens — garantida a virgindade e a fidelidade de suas mulheres ou namoradas —, as mulheres ou namoradas dos outros eram para ser desejadas sem contemplação. O conflito se dava porque, debaixo de toda a culpa e repressão, as moças tinham vontade própria e também desejavam os homens que não deviam desejar. E, com isso, todos eles, homens e mulheres, viviam num estado de permanente excitação erótica. As pessoas não gostavam de admitir e preferiam chamá-lo de “tarado”, mas Nelson estava sendo estritamente realista em seu tempo.
No Rio em que se passam as histórias de “A vida como ela é...” — o dos anos 50, quando elas foram escritas —, não havia motéis, nem a pílula e nem a atual liberdade absoluta entre os jovens. A Zona Norte, quase sem comunicações com a paradisíaca e permissiva Zona Sul, ainda preservava valores contemporâneos da “Espanhola”. As famílias eram rigorosas e, o que é pior, muito mais famílias moravam juntas do que hoje. Maridos, cunhadas, sogras, tias e primas cruzavam-se dia e noite nos corredores dos casarões, sob uma capa de máximo respeito. Nessa convivência compulsória e sufocante, o desejo era apenas uma faísca inevitável. (Palhares, o canalha que, ao passar pela cunhada no corredor, deu-lhe um beijo no pescoço, e que se tornaria personagem das futuras “Confissões” de Nelson, nasceu numa das primeiras “A vida como ela é...”. Só que com o nome de Bezerra, e um detalhe: era induzido ao beijo pela garota.)
“Última Hora”, em seus primórdios, não era um jornal tão voltado para a Zona Norte como depois se tornaria. Crimes e futebol ocupavam um espaço que Samuel Wainer, se pudesse, dedicaria apenas a Getúlio. Mas o perfil do vespertino definiu-se por si próprio, sem dúvida empurrado pelo sucesso popular de “A vida como ela é...”. Desde o começo, a coluna de Nelson passou a ser a leitura obrigatória nos bondes e lotações.
Uma cena comum nos ônibus apinhados era a fila de homens em pé no corredor, pendurados nas argolas e empunhando uma “Última Hora” dobrada na página de “A vida como ela é...”. E, ao contrário dos folhetins de “Suzana Flag”, a nova coluna de Nelson tinha uma sólida platéia masculina.
Talvez até demais. Um leitor encontrou Nelson na rua, reconheceu-o pelo seu retratinho no jornal e foi sincero:
" ‘Seu’ Nelson, não deixo minha noiva ler sua seção!” Nelson caiu das nuvens:
“Mas por que, e que piada é essa?”
“Porque as suas heroínas dão mau exemplo.”
Nelson respondeu por escrito, na mesma época, em outra parte do jornal:
“Discordo desse ideal de noiva cega, surda e muda diante da vida. Acho que uma moça só deve ser esposa quando está em condições de resistir aos maus exemplos. Considero monstruosa, ou inexistente, a virtude que se baseia pura e simplesmente na ignorância do mal. Cada mulher devia ter um minucioso conhecimento teórico do bem e do mal. Afinal de contas, a virtude é, acima de tudo, opção.”
Os primeiros meses de “A vida como ela é...” tinham outra diferença em relação ao que a coluna seria no futuro: as histórias eram tristíssimas. Quase todos os adultérios terminavam em morte. Nelson explicou-se longamente na ocasião:
Desde o primeiro momento, “A vida como ela é...” apresentou uma característica quase invariável: é uma coluna triste. Impossível qualquer disfarce, qualquer sofisma. Por uma destinação irresistível, só trata de paixões, crimes, velórios e adultérios. Impôs-se uma dupla condição: sofriam os personagens e os leitores. A principio, ninguém disse nada. Um mês depois, porém, surgiram as primeiras reclamações. Os próprios companheiros ponderavam:
— Que diabo! Vê se dá um final menos trágico a teu negócio! Todo dia você mata um!
Eu procurava ser jocoso: — “Vou tratar disso!” — Era o primeiro a achar graça quando me perguntavam:
— Muita morte, hoje?
Ria:
— Mais ou menos.
Todos acham “A vida como ela é...” de uma imensa tristeza. Torno a esclarecer que essa coluna é assim mesmo, por natureza, por destino e, em última análise, por necessidade.
Senão vejamos: “A vida como ela é...” enterra suas raízes onde? Nos fatos policiais. Muito bem. A matéria-prima, que necessariamente uso, é, e aqui faço dois pontos: punhalada, tiro, atropelamento, adultério. Pergunto: posso fazer, de uma punhalada, de um tiro, de uma morte enfim, um episódio de alta comicidade? Devo fazer rir com o enterro das vítimas? Posso transformar em chanchadas as tragédias daqui ou alhures?
Na minha opinião, “A vida como ela é...” se tomou justamente útil pela sua tristeza ininterrupta e vital. Uma pessoa que só tenha do mundo uma visão unilateral e rósea, e que ignore a face negra da vida, é uma pessoa mutilada. Por outro lado, nego a qualquer um o direito de virar as costas à dor alheia. Precisamos ter continuamente a consciência, o sentimento, a constatação dessa dor. Sei que nenhum de nós gosta de se aborrecer. Mais importante, porém, que o nosso frívolo conforto, que o nosso alvar egoísmo — é o dever de participar do sofrimento dos outros. Há uma leviandade atroz na alegria! Resta mencionar um episódio que marcou decisivamente essa seção. Dias antes de começar “A vida como ela é... “estive, acidentalmente, numa policlínica. Lá, numa sala apinhada, estava um menino de três ou quatro anos, no colo materno. Súbito, a criança começa a chorar. Mas seu pranto era diferente: ele chorava pus. Desejo ser sóbrio, mas permitam-me dizê-lo: viva eu cem, duzentos, trezentos anos e terei comigo, cravada em mim, essa lágrima espantosa. Durante meses, tive vergonha de minha alegria, remorso do meu riso, horror de minhas lágrimas normais e apresentáveis. Por vezes penso: rir num mundo tristíssimo é o mesmo que, num velório, acender o cigarro na chama de um círio.
Os companheiros de Nelson em “Última Hora” liam isso e não acreditavam. O homem que escrevia essas coisas não se parecia com elas no dia-a-dia da redação.
Nelson era um dos primeiros a chegar, antes de sete da manhã. (A primeira edição rodava às onze e circulava ao meio-dia.) Tirava de sua gaveta um co-pinho de café, do permanente estoque de copinhos que conservava trancado, e ia até a uma das garrafas. Servia-se, esperava o café esfriar e só então o tomava. Voltava para sua máquina no canto da redação, acendia um cigarro e começava a metralhar. Catava milho, mas com uma velocidade de herói de gibi. Representava enquanto escrevia: se o personagem se irritava, ria ou chorava, Nelson fazia os seus gestos e expressões. (Quem não o conhecesse, pensaria que ele estava tendo um treco.) A cinza do cigarro caía-lhe sobre o peito do suéter sem mangas, sobre a máquina, sobre o papel. Visto de longe, quando fazia uma pausa, parecia de olhos fechados, cochilando ou em transe religioso.
De repente, como se acordasse do transe, virava-se para quem estivesse mais perto e pedia:
“Fulano, me dá um nome pra corno!”
Alguém lhe soprava: “Gusmão”.
Nelson achava graça e aceitava:
“Você tem razão. Gusmão é batata!”
Sua capacidade para concentrar-se parecia sem paralelo. Durante as duas horas que levava para escrever uma “A vida como ela é...”, levantava-se pelo menos dez vezes para ir tomar café. No caminho, fazia uma piada sobre política ou futebol com um colega. Voltava, sentava-se e continuava a batucar, como se não tivesse tirado os olhos da máquina. Dez ou doze cigarros depois, a coluna estava pronta.
A popularidade de “A vida como ela é...” começou a mudar a vida de Nelson. As nuvens rolaram para longe e, com o que Samuel Wainer lhe pagava pela coluna, não precisaria ter aceito a sua oferta para ressuscitar “Suzana Flag” e fazer um folhetim para “Última Hora”. Mas aceitou e “Suzana Flag” fez “O homem proibido”, no próprio ano de 1951.
Ninguém reparou que a história de “O homem proibido” começava igualzinha à de “Minha vida”: a mãe que se mata, o pai que desaparece, a menina que é deixada aos cuidados de alguém — com a diferença de que, em “O homem proibido”, esse alguém não era um noivo, mas uma prima sete anos mais velha. A partir daí a trama seguia rumo próprio, com as duas mulheres interessadas em dois homens, só que cada uma interessada no homem da outra. No meio do caminho, a heroína ficava temporariamente cega, como o próprio Nelson. “O homem proibido” tinha uma vantagem sobre as histórias anteriores de “Suzana Flag”: era escrito com muito mais carinho, como se cada palavra tivesse sido escolhida com pinça.
Como se Nelson, de pazes feitas com o sucesso, só tivesse agora de reconciliar-se com seu teatro.
Os colegas cercavam Sábato Magaldi no IPASE:
“Escuta esta, Sábato!”, dizia um deles. “Fiquei sabendo de uma história que é um tiro para o teu amigo Nelson Rodrigues! Para aquela coisa que ele escreve no jornal. A história é assim, assim e assado!”
Sábato contava a Nelson essas histórias que ouvia na repartição e, muito depois, reconhecia-as — com um toque de ironia e humor que não constavam do original — nas colunas de “A vida como ela é...”. Mas não era a única fonte de Nelson para aquele tipo de histórias. Ele era um entre centenas — na verdade, as fontes eram todos com quem Nelson conversava. Seus colegas em “Última Hora” já tinham percebido o truque de Nelson: ouvir muito — ouvir o que qualquer pessoa tivesse a dizer — e falar pouco, exceto para dizer:
“Detalhes! Quero detalhes!”
A grande fonte de Nelson era a realidade e, por isso, o título de sua coluna só poderia ser aquele. Sua própria rua no Andaraí era uma jazida de “A vida como ela é...”. Quando Nelson mudou-se para a Agostinho Menezes, esta era ainda uma espécie de prolongamento da rua Goiânia e tinha no máximo dez casas, contando com a dele — um cadinho de gente vigilante e fofoqueira, com todos os defeitos e virtudes de uma grande comunidade, só que concentrados naquelas poucas famílias. A estrela da vizinhança ainda não era Nelson, mas Rodolfo Mayer, famoso e querido mesmo antes de “As mãos de Eurídice”. Houve um dia, no entanto, em que um episódio doméstico na rua Agostinho Menezes concentrou as atenções e deixou até a existência de Rodolfo Mayer em segundo plano.
Um marido notoriamente banana, que era tratado como um cão pela mulher e ainda lhe fazia festas, cansou-se de ser humilhado e, no meio da rua, deu uma sova de cinto na cara-metade. Toda a vizinhança chegou à janela para admirar o espetáculo. As próprias mulheres da rua torciam pelo marido agressor:
“Bate mais! Bate mais!”
O marido cansou-se de bater e parou. O que houve em seguida foi espantoso: a mulher atirou-se sobre ele, aos beijos. E, desde então, passou a desfilar de nariz empinado e braço dado com o ex-banana, como se só estivesse precisando daquela sua demonstração de hombridade para admirá-lo. Ao ouvir os comentários das vizinhas, que tinham apoiado maciçamente a surra, Nelson concluiu:
“Toda mulher gosta de apanhar:"
Não era bem isso o que ele queria dizer, claro — e nem se referia a nenhum problema dele, pessoalmente incapaz de fazer mal a uma mosca do sexo feminino. Era apenas uma imagem, que talvez se traduzisse melhor na pergunta:
“Que mulher pode gostar de um banana?’". Mas a frase saiu em "A vida como ela é...” e Nelson a repetiria depois em entrevistas. A repercussão entre muitas mulheres foi a pior possível.
Joffre e Nelsinho tiveram de ouvir inúmeras vezes na escola:
“Como é, tua mãe já apanhou hoje?”
A própria Elza foi abordada com essa pergunta por pessoas que não conheciam Nelson. Queixou-se a ele:
“Nelson, ou você explica a tal frase ou diz que mudou de idéia. Faça qualquer coisa, mas isso tem de parar:’
Nelson calcou a brasa do cigarro no cinzeiro:
“Meu anjo, eu não tenho de explicar nada. Se a pessoa é burra e não entende, o problema é dela. Burro nasce que nem capim:’
"A vida como ela é...” não estava transformando Nelson apenas no jornalista mais popular do Rio. Começava a torná-lo também um personagem — que os leitores identificavam com os da coluna. A ciranda de mortes em suas histórias fazia com que se dissesse, por exemplo, que ele dormia num caixão de defunto, que tirava sonecas entre quatro cimos.
Essas pessoas ficariam desapontadas se o vissem na intimidade: em casa, de pijama, às nove da noite, ouvindo discos de frevos pela Banda do Corpo de Bombeiros e indo dormir numa vulgar cama Drago com colchão de molas. Da qual só se levantava, no meio da madrugada, para aplacar os pinotes da úlcera com a papa de purê de batata e carne moída.
O permanente furor sexual de seus personagens levava a que outros o vissem como um sátiro, alguém a não ser convidado para festas de formatura ou bailes de debutantes. O que é um sátiro? Segundo o aurélio, um sujeito devasso, luxurioso, libidinoso. Os antigos o mostravam com chifres anelados e pernas curtas, de bode. Nelson não era, definitivamente, um devasso.
“O sexo é a satisfação impossível. O amor é que justifica o fato de o homem ter nascido’ dizia.
Mas, contra as suas próprias convicções, ele era um supersensual, com o radar permanentemente ligado.
Se o telefone tocava na redação de “Última Hora” e gritavam: “Nelson! Pra você!”, sua primeira pergunta era:
“É mulher?”
Quando era, Nelson, na sua própria descrição, saía “atropelando mesas e cadeiras, como um centauro”. Emborcava o balde de lixo, sentava-se nele, cruzava as pernas e monopolizava o telefone da redação pelos quarenta minutos seguintes. Falava pouco e baixinho, como se estivesse trocando as confidências mais delirantes. Não se sabe o resultado desses telefonemas. No mínimo, forneciam-lhe abundante material para “A vida como ela é...".
Nelson percebeu que passara a ser enxergado. Assim, antes que os outros o moldassem segundo suas fantasias, ele resolveu esculpir o personagem de si próprio.
O tarado Nelson Rodrigues!”, gritava Carlos Lacerda pela rádio Globo em 1953. “Um dos instrumentos do plano comunista da Última Hora’ para destruir a família brasileira!”
Carlos Lacerda citava Marx e Engels, para mostrar o péssimo conceito em que os dois filósofos alemães tinham a família, e lia trechos de “A vida como ela é...”, para provar que Nelson Rodrigues fazia parte do insidioso movimento comunista internacional. Quem ouvisse Carlos Lacerda falando aquilo pelo rádio, e não conhecesse Nelson, era bem capaz de acreditar. Mas qualquer um que já tivesse trocado duas palavras com ele só podia rir.
Na sua campanha para arrasar Getúlio, Carlos Lacerda tinha primeiro de destruir Samuel Wainer e a “Última Hora” — e, para isso, valia tudo, até insinuar que Nelson, além das papinhas para a úlcera, também comia criancinhas no café da manhã. Carlos Lacerda estava cansado de saber que Nelson era quase tão anticomunista quanto o folclórico almirante Pena Boto, e que sua presença na “Última Hora”, entre todos aqueles esquerdistas, era até uma excrescência.
Mas a imagem “antifamília” de Nelson era valiosa para sua argumentação. Afinal, os comunistas não queriam acabar com a família?
Nelson ouvia aquilo não sem certa mágoa. Gostava de Carlos Lacerda e já votara nele para vereador. Sua família passara fome e quase morrera por causa de Getúlio. Mas a censura de Getúlio, que perseguia todo mundo, nunca se metera com seu teatro. E Getúlio depois tornara-se amigo dos Rodrigues. Mesmo assim, Nelson votara no brigadeiro Eduardo Gomes contra Dutra em 1945, e de novo no brigadeiro contra Getúlio em 1950. O slogan do brigadeiro, “É bonito e é solteiro”, era formidável, mas o homem era ruim de voto. O partido pelo qual Nelson tinha uma certa simpatia era a UDN, o mesmo de Carlos Lacerda. O pai de Carlos, Maurício de Lacerda, amigo de seu pai, é que fora comunista — tanto que chamara o filho de Carlos Frederico, em homenagem a Marx e Engels. E o próprio Carlos Lacerda também tinha sido comunista, que diabo. Por que vinha agora misturá-lo com alhos e bugalhos?
Era por declarações como essa que ninguém na “Última Hora” levava Carlos Lacerda a sério. Seu jornal, “Tribuna da Imprensa”, tinha uma tiragem ridícula. “Última Hora”, em compensação, era o de maior circulação da cidade. Havia agora também a “Última Hora” de São Paulo e Samuel acabara de lançar um sensacional semanário chamado “Flan”. Se Carlos Lacerda continuasse falando sozinho, nada iria acontecer. Mas ele ganhara um temível aliado: Assis Chateaubriand. Com a TV Tupi à sua disposição é que sua campanha contra Samuel Wainer começaria de verdade. E ai tiveram de levá-lo a sério.
Já não bastava a Carlos Lacerda acusar Samuel Wainer de ter se beneficiado de empréstimos no Banco do Brasil — porque todos os jornais faziam isso. Então inventou-se que Samuel Wainer não nascera no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, como dizia, mas numa aldeia da Bessarábia, na Transilvânia, a terra do conde Drácula. E que, por ser estrangeiro, não podia ser dono de jornais no Brasil. Talvez pela imagem do vampiro, havia gente na “Última Hora” que queria ir ao pescoço de Carlos Lacerda. Puseram-lhe o apelido de “Corvo” — Lan desenhou um corvo de óculos e o apelido pegou. Nessa época, Samuel Wainer não descansava. Varava 48 horas seguidas na redação, sem passar em casa nem para trocar de roupa. As vezes cochilava num sofá, com uma pilha de jornais da véspera como travesseiro. Do outro lado, Carlos Lacerda devia fazer o mesmo. Nenhum dos dois deixava o ódio descansar.
Nelson observava com espanto essa confusão. Dois de seus maiores amigos estavam em frentes opostas: Otto Lara Resende, na “Última Hora”; Carlos Castelo Branco, na “Tribuna da Imprensa”. Os dois escreviam artigos violentíssimos um contra o jornal do outro, como se quisessem fechá-lo, impedi-lo de circular. Nelson lia um e outro editorial e não sabia o que pensar — ambos eram perfeitos na argumentação e na forma. Dizia isso a Otto e Castelo quando os três se encontravam na “Colombo”, o que acontecia quase todo dia. Otto e Castelo eram a prova de que a política não interferia na amizade. Escreviam aqueles editoriais mutuamente insultuosos, mas a briga era entre Samuel Wainer e Carlos Lacerda, eles não tinham nada com isso.
Nelson exercitava essa mesma bonomia dentro da própria “Última Hora”:
“Otávio Malta, se o comunismo vencer amanhã no Brasil, você vai mandar me fuzilar?”
Ou como no dia em que o repórter Ib Teixeira chegou tarde ao jornal e justificou-se:
“Fui levar meu pai ao hospital.”
Nelson levantou os olhos da máquina. Fingiu ignorar que seu amigo Ib saíra publicamente do “Partidão” e disparou, entre risos da redação:
“Rá-rá-rá! E desde quando comunista leva o pai ao hospital? Comunista corta a carótida do pai com um caco de garrafa de ‘Brahma Chopp’!”
Ninguém se irritava com Nelson por essas brincadeiras. A revolução era mais risonha e franca então — e, concordando com Lacerda por uma vez na vida, as esquerdas viam no seu teatro algo a ser considerado. A sua maneira individualista, neurótica, meio doentia talvez, Nelson realmente ajudava a desmontar o “mundo burguês, da família, da tradição, da religião”. Não esquecer que, em 1953, metade do planeta vivia sob a égide do “realismo socialista” criado pelo teórico stalinista Jdanov, segundo o qual todas as histórias deveriam ter um final “positivo”, que ressaltasse as conquistas do proletariado.
O problema de Nelson era só esse: ele ficava no meio do caminho, diziam as esquerdas. Depois de receber o buquê das mãos de Alaíde, Lúcia deveria tirar o vestido de noiva, enfiar-se no macacão e ir para a reunião do sindicato.
“Me interessa a pessoa em particular”, sempre disse Nelson. “A História que vá para o diabo que a carregue, e Marx, que vá tomar banho.”
Mas houve um momento, naquele mesmo ano de 1953, em que os ataques de Lacerda contagiaram o resto da imprensa e Samuel Wainer começou a levar bala de todos os lados. Lacerda convenceu os outros proprietários de jornais de que Wainer praticava “dumping”, vendendo um jornal com o dobro de cadernos (e com capas em cores) pelo mesmo preço dos outros. (Um desses cadernos era o de esportes, dirigido por Augustinho. Nele, as camisas do flamengo ou do Fluminense saíam ainda mais rubro-negras e tricolores do que na vida real.) As agências de publicidade deixaram de programar “Última Hora” para seus anúncios e a situação ficou preta para Samuel Wainer.
E, para seus jornalistas, nem se fala. No fim daquele ano de 1953, Samuel não teve dinheiro para pagar os salários. O jeito foi vender espaço para as lojas do varejo em troca de produtos e pagar seus funcionários com esses produtos. Durante alguns meses, Nelson levou seu salário para casa em espécie: liquidificadores, batedeiras de bolo, uma bateria de cozinha. Nos melhores meses, levava-o em dinheiro miúdo, centenas de notas amassadas e até moedas.
A situação piorou ainda mais quando Samuel Wainer, confiando na maioria getulista no Congresso, propôs a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a origem das acusações à “Última Hora”.
Era o que Carlos Lacerda precisava para ter um palco nacional. Ainda não era deputado, mas tinha tanta intimidade com o microfone da Câmara como se fosse através dele que tivesse falado o seu primeiro gugu-dadá. Sempre que Carlos Lacerda era convocado a depor, Samuel Wainer tremia.
E Nelson também porque, agora, os ataques de Carlos Lacerda a “A vida como ela é...” tinham caráter oficial, iam para as atas. Lacerda já não se limitava a citar Marx e Engels para provar que Nelson queria solapar a família. Passara a invocar dom Jaime de Barros Câmara, cardeal do Rio de Janeiro, para quem Nelson queria varrer a religião dos lares brasileiros.
Nelson era atacado também pelo católico Gustavo Corção, colaborador da “Tribuna da Imprensa”. Corção desfraldava a própria virtude como um estandarte e, em nome de Nossa Senhora, acusava Nelson de disseminar a devassidão. O curioso era que, em 1953, a conversão de Gustavo Corção ao catolicismo ainda podia ser considerada recente. Até os 43 anos, em 1939, ele era hidrofobamente ateu e de extrema esquerda. Foi quando teve uma crise de consciência, daquelas de prostrar o cidadão. Deixou-se converter por Alceu Amoroso Lima e tornou-se ainda mais católico e moralista do que Alceu, se é que isso era possível. Chegava a sofrer pessoalmente com os recorrentes acessos de soluços do papa Pio XII, que duravam dias, como se os espasmos papais se produzissem na sua própria glote. Até então Nelson o admirava por duas coisas: por escrever bem e por ser capaz de montar suas próprias vitrolas. Neste segundo caso, Corção não fazia vantagem — porque, como engenheiro eletrônico, era capaz de montar até siderúrgicas.
Mas seus ataques a Nelson fizeram com que este cancelasse a admiração. Nelson passou a responder a Corção através de “A vida como ela é...”, pondo frases contra ele na boca dos personagens. Algumas delas estão no conto intitulado “Sórdido”, em que Nelson faz um sujeito dizer: “Eu, quando leio o Corção, tenho vontade de fazer bacanais horrendas, bacanais de Cecil B. DeMille!”; “Corção compromete os valores que defende”; “Depois de ler o Corção, eu tenho vontade de roubar galinhas! De agarrar mulher no peito, à galega! A minha sordidez fede menos do que a virtude do Corção. Por causa do Corção, já desisti da vida eterna. Já não quero mais ser eterno, percebeste? Prefiro apodrecer dignamente!”; “Quando penso na virtude do Corção, eu prefiro — sob a minha palavra de honra — ser um canalha abjeto”.
Mesmo que não lhe tivessem pedido, a solidariedade de Nelson para com Samuel Wainer foi integral. Quanto mais Samuel Wainer ficava isolado, mais Nelson sentia-se do seu lado. Enfrentou sozinho os ataques de Carlos Lacerda, de dom Jaime e de Gustavo Corção. Não reclamou quando teve de levar liquidificadores e moedas para casa. Resistiu às propostas de Chateaubriand, que queria “A vida como ela é...” nos seus jornais para golpear “Última Hora". E, finalmente, compareceu à Câmara para depor em defesa de Samuel Wainer e só faltou dizer que assistira à sua circuncisão no Bom Retiro.
Quatro anos depois, em fins de 1957, Nelson teve um sério problema de vesícula. Foi operado, quase morreu e passou quase três meses sem poder escrever “A vida como ela é...”.
E Samuel Wainer foi estritamente profissional: publicou colunas velhas, para que a seção não deixasse de sair nem um dia — e descontou-o.
Quando os personagens de “A falecida” disseram suas primeiras falas no palco do Teatro Municipal, no dia 8 de junho de 1953, a platéia levou um susto. Jogando uma sinuca invisível (a cada tacada imaginária eles exclamavam “Pimba!”), os personagens se referiam a Carlyle, atacante do Fluminense, Pavão, beque do Flamengo, e Ademir, craque do Vasco, jogadores então em atividade. A peça tratava de uma sofrida mulher do subúrbio carioca, a tuberculosa Zulmira, cuja única ambição na vida era um enterro de luxo. Seu marido Tuninho, tricolor fanático, só pensava em futebol. Se pudesse, apostaria no Fluminense contra duzentas mil pessoas no Maracanã, dando dois gols de vantagem. Zulmira, pouco antes de morrer, mandou Tuninho procurar o milionário Pimentel. Ele pagaria o enterro de luxo. Zulmira morreu, Tuninho foi ao milionário e descobriu que ele era amante de Zulmira. Tomou-lhe o dinheiro, deu a Zulmira um enterro de cachorro e partiu eufórico para apostar contra o Maracanã lotado.
Na platéia, o escândalo se resumia numa frase:
“Mas como??? Futebol no Municipal! Onde é que nós estamos?”
De fato, a aura que cercava o Teatro Municipal não autorizava certas liberdades. As pessoas mandavam fazer roupa para freqüenta-lo, como se o Rio fosse Paris ou Milão. Era um palco reservado a óperas, concertos, oratórios sacros e peças “sérias”. E as peças anteriores de Nelson, por mais chocantes, eram sérias. Mas “A falecida” estava cheia de gaiatices. Em certo momento, um personagem diz:
“A solução do Brasil é o jogo do bicho! Eu, se fosse presidente da República, punha o Anacleto como ministro da Fazenda!”
Sem falar nas referências geográficas, que tornavam “A falecida” tão carioca quanto uma chanchada da Atlântida. Ou — embora muitos ainda não se dessem conta — quanto uma coluna de “A vida como ela é...”.
Hoje isso parece claro. Nelson deixou que a cor local de “A vida como ela é...” contaminasse “A falecida”. A história podia ser dramática, mas alguns personagens eram mesmo gaiatos, falavam a gíria corrente, estavam vivos. Cenário e tempo não eram “qualquer lugar ou qualquer época”, como nas outras peças, mas a Zona Norte do Rio (nominalmente, a Aldeia Campista), com uma rápida passagem pela Cinelândia. O tempo era hoje, 1953. E a peça era engraçada, não havia como não rir — embora Nelson advertisse no programa que, se alguém risse, seria por conta própria. Pois sim.
Ele classificara “A falecida” como uma “tragédia carioca” — mas, virada pelo avesso, era uma comédia e, a partir de agora, suas peças iam ser assim.
Seria o reencontro de seu teatro com o sucesso comercial. E, pelo que já passara, não era sem tempo. Cansado de desagradar a platéia, os críticos e a censura, Nelson iria agora pelo menos agradar a si mesmo. E quanto às referências ao futebol, ele achava que já estava na hora de os personagens da literatura brasileira aprenderem, pelo menos, a “bater um escanteio”.
Com Getúlio presidente, as perspectivas para o teatro de Nelson eram azuis com bolinhas cor-de-rosa. “A falecida”, escrita em 26 dias, fora levada pela “Companhia Dramática Nacional”, do SNT — ou seja, do ministério da Educação. Mesmo assim, ele preferira não abusar. Especificou um cenário vazio, com “fundo de cortinas”. Os personagens simulariam os diversos ambientes, movendo cadeiras, mesinhas e almofadas. A direção era de um quase estreante, José Maria Monteiro, que os amigos chamavam de “Mulher-barbada”. E o papel de Zulmira fora entregue a uma atriz tarimbada, mas pouco conhecida, e por quem Nelson se apaixonou no primeiro ato: Sônia Oiticica.
Na verdade, até antes do primeiro ato. José Maria Monteiro estava fazendo a leitura da peça com o elenco. Nelson esperou um intervalo e aproximou-se de Sônia:
“Você também deve me achar um tarado, não?”
Ela, trêmula, quis desconversar:
“Mas, absolutamente, e, ora, por quê?”
“Todo mundo acha”, suspirou Nelson.
Era o auge da campanha de Carlos Lacerda, quando Nelson às vezes temia até que lhe cuspissem na rua. Mas não seria por isso que Sônia, 33 anos e filha do lingüista e trotskista José Oiticica, iria se impressionar. Se ficara vermelha ao falar com ele era porque já o achava um mito. A campanha de Nelson para conquistar Sônia foi pesada: flores, bilhetes, pequenos carinhos e gentilezas. Entrava no seu camarim e perguntava, cheio de intenções outras:
“Como está passando, minha Duse? Ainda à espera do seu D’Annunzio?”
Nelson aproximou-se do ator Paulo Porto, que fora namorado de Sônia, como se quisesse sondá-lo sobre o de que ela gostava. Engraçado que, em 1940, Sônia trabalhara num filme de seu irmão Milton, “Pureza”, e Nelson nem reparara. E agora não adiantava reparar. Ela era casada com um comerciante que não lhe cobrava horários, não lhe perguntava com quem tinha saído do teatro, e nem precisava. Sônia desenganou Nelson com o máximo de tato e propôs que fossem apenas amigos.
O que conseguiu porque, nos vinte anos seguintes, faria três outras peças dele. Mas, durante muito tempo, Nelson ainda se referiu a ela como o seu amor puro e poético”.
Nada poético era o romance que ele vinha mantendo desde o ano anterior, 1952, com Yolanda, secretária de um radialista da rádio Mayrink Veiga. Quando a conheceu, Nelson tinha quarenta anos, Yolanda vinte. Ela morava no Irajá com sua mãe e com uma penca de tios espanhóis, das ilhas Canárias, os quais não aprovavam de jeito nenhum o seu romance com um homem casado e tão mais velho. Mas Yolanda os enganava e ia encontrar-se com Nelson num apartamento na praça São Salvador, nas Laranjeiras.
Por algum motivo — bem ao contrário de paixões anteriores —, esse foi um caso que, enquanto durou, Nelson manteve cuidadosamente escondido de seus amigos e irmãos.
E durou pelo menos cinco anos, até 1957. Em 1953, Yolanda teve uma filha, Maria Lúcia; em 1955, outra filha, Sônia; e, em 1957, um terceiro, Paulo César. Os três, segundo Yolanda, eram dele. No futuro, quando as três crianças se apresentassem a Nelson para pedir-lhe uma pensão, ele falaria do assunto com Joffre e diria que só tinha certeza do garoto. Paulo César era seu filho, ele sabia. Quanto às duas meninas, “fizera as contas e achava que não eram”.
Pode-se perguntar o que levaria um homem a sustentar um caso tão longo com uma mulher que, de dois em dois anos, produzia filhos que afirmava serem dele e dos quais ele não tinha “certeza”. Quanto mais um caso tão atribulado, que lhe criava problemas, que ele queria conservar clandestino e que, com o temperamento de Yolanda, podia transformar seu casamento numa tourada. Quando for feita, essa será uma boa pergunta. Mas cuja única resposta, sujeita a erro, talvez esteja na complicada personalidade de Nelson. Pretextos é que não faltaram para ele encerrar o romance.
Um dia, por exemplo, Yolanda viu-o caminhando ao lado de uma amiga numa rua do Centro. Armada de fúria espanhola, avançou contra a mulher, deixou-a toda despenteada e só faltou dançar um “paso doble” sobre ela no meio da rua. (Nelson passou sebo nas canelas e fugiu correndo.) Em outro ataque de ciúmes, Yolanda teria quebrado a louça do apartamento onde se encontravam. Pelo visto, quebrar coisas era uma espécie de esporte na família: a mãe de Yolanda, dona Carmen, quebrara uma garrafa de leite na cabeça da filha quando soube que ela estava grávida pela terceira vez. Os sobressaltos não paravam. Cansada de esperar que Nelson se separasse de Elza, Yolanda mais de uma vez telefonou para a casa dele e descompôs sua mulher — o que, naturalmente, só azedou a vida do casal. E telefonou também para Nelson na casa de dona Maria Esther, num daqueles sábados em que os Rodrigues se reuniam.
Dessa vez Nelson perdeu as estribeiras na frente de todos. Seus dentes chocalhavam como castanholas:
“Você nunca mais se atreva a telefonar para a casa de minha mãe!”, gritou para Yolanda antes de bater o telefone.
E completou a frase com um palavrão, o único que suas irmãs o ouviram pronunciar a vida inteira.
Yolanda não se encaixava nem um pouco no perfil das mulheres doces, recatadas e maternais que Nelson valorizava. Então, o que o atraía nela, exceto uma possível “ardência canarina” que, supostamente, ele lhe atribuía?
Quando eles romperam — ou quando, segundo consta, Yolanda rompeu com ele —, em 1957, ela o teria ameaçado:
“Eu vou levar meus filhos e eles nunca vão te chamar de pai!”
Dez anos depois, seria exatamente disso que eles o chamariam.
Enquanto as prateleiras ameaçavam despencar sobre sua cabeça, com Carlos Lacerda, Yolanda e “A falecida” simultaneamente em cartaz, Nelson conseguiu produzir mais um — e último — folhetim de “Suzana Flag”. Dessa vez em “Flan”, o semanário em cores que Samuel Wainer lançou em abril de 1953. Chamou-se “A mentira”. Mas talvez “Flan” fosse sofisticado demais para “Suzana Flag”. Entre seus colunistas e redatores, estavam Otto Lara, Francisco de Assis Barbosa, Joel Silveira, Justino Martins, Vinicius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Hélio Pellegrino (outro jovem vindo de Belo Horizonte — eles não paravam de chegar de lá) e até Dorival Caymmi. “Flan” durou apenas 36 semanas — nove meses —, ao fim dos quais abortou na praia, sufocado pela campanha contra Samuel Wainer.
Nesse momento Nelson tinha mais com que se preocupar. Com suas boas relações no governo, ele conseguira um milagre que, durante anos, achara impossível: a liberação de “Senhora dos afogados”, proibida desde 1948. Não era uma sorte que, em 1953, Getúlio tivesse nomeado Tancredo Neves ministro da Justiça, e que Tancredo fosse cidadão de São João del Rey, a terra de Otto Lara?
Tratava-se agora de achar quem a encenasse à altura. Ziembinski, um dos que nunca tinham se conformado com a proibição da peça, estava agora em São Paulo trabalhando com o “Teatro Brasileiro de Comédia” — o TBC, a companhia de Franco Zampari que vinha fazendo, em termos profissionais, o que “Os comediantes” haviam feito dez anos antes no Rio como amadores. E ponha profissionais nisso: o TBC, fundado em 1948, provara que o teatro era possível como empresa no Brasil.
Sua fórmula, como a resumira Décio de Almeida Prado, era simples: “textos consagrados e encenadores estrangeiros”. Todo mundo ali era contratado: diretores, atores, cenógrafos, maquinistas, contra-regras, eletricistas e quem mais tivesse alguma função num espetáculo. Assim dava gosto fazer teatro. O cérebro empresarial por trás disso era o do italiano, criado no Brasil, Franco Zampari. O qual admitia tudo, menos erros de cálculo.
Uma das características do TBC era o “bom gosto”, um artigo de que o teatro brasileiro realmente não era nada pródigo. A outra característica era o sotaque italiano, talvez porque os principais diretores da companhia se chamassem Adolfo Celi, Ruggero Jacobbi, Luciano Salce, Flaminio Bollini, e tivessem acabado de chegar de Roma. O único “brasileiro” entre eles era Ziembinski — exceto, claro, os aprendizes como Antunes Filho ou Flávio Rangel.
Se era para tornar a empresa viável, os homens do TBC não poderiam ter veleidades nacionalistas ou experimentais. O objetivo era fazer um teatro de Primeiro Mundo, limpo, adulto, consciente, de fórmulas já testadas. Donde os autores brasileiros teriam sua chance, desde que fossem Sófocles, Jean-Paul Sartre ou Noel Coward.
Em meados de 1953, Ziembinski propôs “Senhora dos afogados” para o TBC. A peça foi aceita e eles começaram os trabalhos. Ninguém mais parece saber exatamente quem formaria o elenco, exceto que Cacilda Becker, a maior estrela da companhia, estaria nele. Mas há vagas recordações de que Maurício Barroso, Cleyde Yáconis e Célia Biar também estariam. O texto foi lido por Ziembinski com os atores durante duas semanas, não mais que isso — e, em seguida, Ziembinski teria sido obrigado a abandoná-lo. Nunca chegou à fase dos ensaios. Cancelada, como se assopra uma vela.
Quase quarenta anos depois, os veteranos do TBC têm várias explicações para o fato de “Senhora dos afogados” ter sido rejeitada. Nenhuma delas pode ser aceita ou contestada de olhos fechados, mas todas juntas talvez formem um quadro que explique por que a maior companhia do teatro brasileiro nunca encenou o maior dramaturgo brasileiro — e deixou de encenar talvez a sua maior peça. As explicações são as seguintes, com comentários deste autor:
“Era assim mesmo. Várias peças que o TBC se preparou para montar foram abandonadas de repente, com metade do cenário pronto e o elenco já tendo decorado o texto.” Será? Não parece típico da mentalidade empresarial de Zampari. E nem o TBC era essa bagunça.
“Não havia clima para Nelson Rodrigues em São Paulo no começo dos anos 50. Era muito ‘forte’ para a mentalidade paulistana.” Faz sentido. Nelson também não era um picolé de “Chica-bon” para a mentalidade carioca da mesma época. Mas supunha-se que o TBC quisesse fazer um teatro para adultos que tivessem superado o mito da cegonha.
“Nelson era excessivamente carioca.” Conversa fiada. A fase “carioca” de Nelson só começaria em junho daquele ano com a estréia de “A falecida” no Rio e, até então, seu teatro não tinha qualquer cor local — carioca, búlgara ou esquimó. Como, aliás, os espetáculos do TBC.
“O TBC detestava autores brasileiros.” Sem dúvida. Mas isso não o impediu de, já naquela época, ter levado peças de Abílio Pereira de Almeida e Edgard da Rocha Miranda.
“O TBC era o xodó da alta classe média de São Paulo. Era esnobíssimo, o governador do Estado ia às estréias. Se pudesse, o TBC encenaria tudo em francês. Nelson, definitivamente, não era ‘bem’. Eles o achavam ‘marrom’, ligado a jornais de escândalos. Digamos, grosso.” Podia ser, mas o que tinha a ver a poesia de “Senhora dos afogados” com a “Última Hora”, se era a esta que estavam se referindo?
“A peça era fúnebre.” Ou “funébre”, como se dizia, às vezes a sério, no TBC. Mas o TBC também levava tremendos dramalhões ingleses, tão fúnebres quanto. E “Senhora dos afogados” era inspirada em “O luto assenta a Electra”, de O’Neill — a qual, por sua vez, era inspirada em “Oréstia”, de esquio. Se fosse de O’Neill ou esquio, podia?
“Cacilda Becker recusou-se. Teria dito: ‘Eu não faço esta peça’.” Pouco provável. Por mais estrela que fosse, Cacilda não teria força para derrubar um espetáculo se Zampari, Celi ou Jacobbi quisessem mesmo levá-lo. Além disso, era inteligente o bastante para saber que seria sensacional tanto no papel de dona Eduarda como no de Moema.
A decepção de Nelson com a rejeição de “Senhora dos afogados” pelo TBC foi enorme. Agarrou-se a esta última explicação, que culpava Cacilda, e que circulou na época. Declarou guerra à atriz, que admirava, e a Zampari, que todo mundo bajulava. Passou a chamar Cacilda de “Olívia Palito”, referindo-se aos 42 quilos que ela pesava. Só mencionava o seu nome para exclamar:
“A Cacilda não quis levar a minha peça! A Cacilda!”
Muitos anos depois de o TBC já estar morto e enterrado, a ira de Nelson contra Zampari ainda se refletiria numa entrevista a “Veja”, em 13/3/1974:
“Foi o maior mistificador do teatro brasileiro. Tinha horror de nossos autores, não fez nada por nossa dramaturgia. O problema do TBC era um só: bilheteria.”
A posteriori, parece mesmo difícil imaginar como seria “Senhora dos afogados” dentro da estética clean do TBC. Não pela cena em que dona Eduarda diz à sua filha Moema: “Desce e vem chamar tua mãe de prostituta”. (E Moema, obedientemente, desce, alça a fronte e diz: “Prostituta!”.) Mas pelas referências aos eczemas da cafetina, aos peixes que comem apenas um dos lados do rosto dos afogados, às mãos decepadas e sangrentas da protagonista. A platéia do teatro da rua Major Diogo não se sentiria bem nas suas casacas de quatrocentos anos.
“Senhora dos afogados” terminaria sendo levada no ano seguinte, em 1954, no Rio, e pela mesma “Companhia Dramática Nacional” do SNT. A direção era de Bibi Ferreira (depois de recusada por madame Morineau); os cenários de Santa Rosa; as estrelas, Nathalia Timberg e Sônia Oiticica; e o palco, o do Municipal. Antes de o pano subir, um político foi cumprimentar Nelson e Santa Rosa no camarote: o ministro da Justiça de Getúlio, Tancredo Neves. Ironicamente, os poderes oficiais estavam emprestando suas pompas a uma peça polêmica, que passara anos interditada e que acabara de ser enxotada por uma companhia séria como se fosse um texto de Walter Pinto.
Pois nem as pompas impediram que, na frente de Tancredo, a platéia do Municipal vaiasse “Senhora dos afogados”.
Não foi apenas uma vaia, foi uma batalha. Assim que a peça terminou, a platéia dividiu-se em dois gomos, ambos disputando para decidir quem gritava mais alto: os que aplaudiam e os que insultavam. Coros de “GÊNIO!” e “TARADO!” sacudiram o reboco do teto. Não se sabe como uma metade não saiu aos tapas com a outra. A jovem Nathalia Timberg, que fazia aquela noite a sua estréia como profissional, estava atordoada. E mais atordoada ficou quando Nelson, reagindo aos gritos pró e contra da platéia, surgiu no palco e desafiou os que o vaiavam:
“Burros! Burros!”
Alguns ameaçaram subir para agredi-lo. Dois ou três do elenco o pegaram pelo braço e o levaram para a coxia, afogueado e respirando com dificuldade. Até então, para Nathalia, a imagem de Nelson era a de uma enorme fragilidade — talvez porque, sempre que o via pelos corredores do teatro, ele estivesse despachando longos olhares tristes para Sônia Oiticica. E ali, no palco, defendendo a sua peça, era como se Nelson tivesse tirado, de dentro daquele terno da “Ducal”, um leão de que ela nunca suspeitara.
As vaias, na verdade, seriam só na noite de estréia. Pelas outras semanas da temporada, ninguém se ofenderia e a companhia iria até Recife e Salvador. E Jean-Louis Barrault, de passagem pelo Rio com um “Hamlet” em francês, viu o espetáculo e ficou tão assombrado que comentou com amigos sua vontade de levá-lo para Paris.
Mas a primeira noite de “Senhora dos afogados” marcaria Nelson. Parecera-lhe um sabá de bruxas. Já mais calmo, nos camarins, ele disse a Nathalia que não entendia como seu teatro podia ser vítima desse tipo de incompreensão. E acrescentou:
“A estrela está no céu. Quem não vê, não vê. Mas ela brilha do mesmo jeito.”
“O TBC acha suicídio montar autores brasileiros”, disse Nelson em fins de 1954, na mesa do “Vermelhinho”, para uma atenta rodinha de aspirantes a autores e diretores. “Pois vamos provar que esse suicídio é viável. Vamos nos suicidar juntos!”
Os ouvintes eram os jovens Léo Júsi, Gláucio Gill, Abdias do Nascimento e Augusto Boal. Todos já tinham escrito ou encenado alguma coisa e todos sofriam da má vontade das grandes companhias contra o produto nacional. Nelson propôs formarem uma “troupe” de combatentes, que se chamaria “Companhia Suicida do Teatro Brasileiro”, e convidou-os a ir à sua casa, no Andaraí, para escrever o manifesto.
O objetivo dos “Suicidas” era encontrar uma forma de desovar sua produção. Mas, além de uma montagem de “Vestido de noiva”, dirigida por Léo Júsi no Teatro Dulcina em abril de 1955, e de uma nova peça de Nelson, “Perdoa-me por me traíres”, que só seria levada em 1957, a única coisa que eles geraram foi o manifesto — escrito por Nelson. O qual começava por atacar tudo que já fora encenado no Brasil a partir da Primeira Missa, para desaguar na condenação ao teatro “prudente, sensato e penteado demais” do TBC.
“É preciso eliminar o espectador puramente digestivo, que vale tanto ou menos que a cadeira vazia. Eliminar esse tipo de espectador ou, então, exaspera-lo como a um touro maciço e soturno”, bramia o manifesto.
Com outras palavras, não era diferente do que os seguidores de José Celso Martinez Correa iriam fazer a partir de 1968. (Com a diferença de que estes seriam bem-sucedidos. Iriam exasperar de tal forma o espectador que ele abandonaria o teatro e o deixaria entregue às cadeiras vazias.) Em 1954, Nelson queria apenas sacudir o público para a possibilidade de um teatro como o seu — mas, à falta de alternativa, não se incomodaria com que todas as cadeiras do teatro fossem ocupadas por manequins de vitrine. Desde que pagassem ingresso.
O manifesto dos “Suicidas” foi distribuído à imprensa em fins de 1954. Provocou ligeiros comentários (exceto para o TBC, que, ocupado com polir suas próprias pratas, ignorou-o) e, como nada acontecesse, o grupo se desfez e cada qual continuou suicidando-se sozinho.
Mas foi naquela época que Nelson revelou a sua inesperada face guerreira. Talvez por já ter passado dos quarenta — idade em que o que tinha de assustar já o assustara. Ou pela constatação de que não lhe vinha adiantando passar-se por bonzinho. O fato é que tornou-se mais agressivo — capaz de, por exemplo, subir ao palco e enfrentar a ira da platéia. A partir dali, e até o fim da vida, ele não deixaria passar um ataque sem revide — isso quando ele próprio não começava a provocação.
Uma das primeiras contas que ajustou foi com Carlos Drummond de Andrade. Nelson nunca o perdoara por ter sido solidário com Álvaro Lins durante a polêmica sobre “Álbum de família” em 1946. Seis anos depois, em 1952, quando Jorge de Lima publicou o seu monumental poema “Invenção de Orfeu”, Nelson aproveitou-o para dar uma cotovelada em Drummond na recém-lançada revista “Manchete”:
“Como é pequenino o Carlos Drummond de Andrade depois de ‘Invenção de Orfeu’. Jorge de Lima encheu o Brasil de ex-grandes poetas.”
No ano seguinte, conheceu João Cabral de Melo Neto na redação de “Flan”. João Cabral era um dos diplomatas que o Itamaraty acabara de colocar na “geladeira”. O casal de cisnes não gostava de suas posições políticas. Sabendo que ele estava sem salário e sem posto no exterior, Samuel Wainer deu-lhe um emprego no semanário como redator. Nelson gostou de João Cabral, leu alguns de seus poemas e ficou impressionado. A partir daí, quando referia-se a Drummond, dizia sempre, fingindo casualidade: “O Drummond, que é o segundo poeta da língua — o primeiro é João Cabral de Melo Neto — etc. etc.”. Drummond nunca lhe respondeu por escrito, mas Nelson sabia que o atingia na sua falsa modéstia — porque Drummond reclamava por terceiros.
A briga com Oswald de Andrade, também em 1952, só teve importância para o ex-antropófago, então lamentavelmente por baixo e elogiando antigos desafetos para tomar-lhes dinheiro emprestado. Oswald, em sua coluna “Telefonema”, no “Correio da Manhã”, investiu contra Nelson num violento artigo intitulado “O analfabeto coroado de louros”, acusando-o de usar “ferraduras mentais”, “zurrar insânias” e de ser um “taradão ilustre, mas de poucas letras”. E, numa frase que traía uma nostalgia pelo “realismo socialista”, Oswald clamava por uma “polícia literária” que impedisse a obra de Nelson de passar de um “folhetim de jornalão de quinta classe”.
Nelson, que sempre achara Oswald divertido como piadista, riu da agressão e, pela “Última Hora”, classificou-o como uma “vaca premiada, de argola no focinho”. Otto Lara Resende, que se dava com um e com outro, cruzou com Oswald em São Paulo, e o ex-antropófago “só faltou implorar-lhe para não deixar Nelson silenciar”. Mas Nelson tinha mais o que fazer para polemizar com um homem desdentado, falido e doente. Parou de responder-lhe. Oswald não se conformou. Numa “Manchete” de 1954, voltou a citar Nelson e, agora, também Cecília Meireles, como “autores de livros analfabetos, que nunca deveriam ter sido escritos”. Dessa vez Nelson ameaçou — mas só ameaçou:
“Eu vou a São Paulo dar um tapa nas ancas do Oswald de Andrade.”
- 1955- 1956 - MORRER COM O SER AMADO
Em março de 1955, os Rodrigues ganharam o processo contra a União pela destruição de “Crítica”. Alguns meses antes de se matar, Getúlio dera instruções para que se resolvesse logo o caso. A solução saíra agora, já com Café Filho presidente — 24 anos e meio depois do empastelamento do jornal, em 24 de outubro de 1930.
Mas não foi esse o tempo que contou para a Justiça quando se tratou de saber quanto caberia aos Rodrigues na indenização. Ela levou em consideração que o processo só foi iniciado em 1935 e que, depois disso, chegou a ficar paralisado por longos períodos — num total de nove anos em que, na prática, não houve processo. Quando o subprocurador-geral Alceu Barbedo deu ganho de causa à família e determinou a indenização, esses nove anos foram abatidos no cálculo do dinheiro. Não se cogitou de que, se o processo demorara para começar ou ficara parado, era porque a família não tinha dinheiro para tocá-lo — por seu patrimônio ter sido destruído.
Os advogados dos Rodrigues lutaram para que a indenização correspondesse ao valor do capital do jornal em outubro de 1930 — cerca de dois milhões e oitocentos mil cruzeiros em dinheiro da época —, multiplicado pelo número de anos que se seguiram ao empastelamento, mais os juros e outras compensações decorrentes. Se esse raciocínio saísse vitorioso, a União teria de pagar à viúva e aos filhos de Mário Rodrigues a fábula de oitocentos milhões de cruzeiros — quase onze milhões de dólares! E dólares de 1955, dez vezes (mil por cento) mais verdes que os de hoje. Era quase a qüinquagésima parte do orçamento da República aquele ano!
Os advogados da União consideraram esse valor um disparate porque o cálculo se baseava na hipótese de o capital de “Crítica” ter sido aplicado regular e comercialmente durante os quase 25 anos, e esquecia os nove anos em que o processo não existira por culpa dos herdeiros. E, mesmo assim, entenderam eles, aquele capital de 1930 não era de todo verdadeiro porque se compunha, entre outras coisas, de gordos subsídios dados ao jornal pelo governo. (E só então ficou público que “Crítica”, apesar de ser um estrondo de vendas, fora financiada o tempo todo por Washington Luis e Melo Viana. Ou seja, a pena brilhante e flamejante de Mário Rodrigues podia cobrar caro, mas, como a de todos os proprietários de jornal em sua época, tinha preço.)
Com isso, a subprocuradoria arbitrou o valor da indenização em 136 milhões e setecentos mil cruzeiros, menos uns quebrados, calculando o valor da publicidade paga em “Crítica” durante o ano de 1930 e multiplicando-o por catorze anos — sem correção monetária, algo de que ainda não se falava. Mesmo assim, era muito dinheiro em 1955: um milhão e oitocentos mil dólares —numa época em que bastava um milhão de dólares para tornar um americano milionário. Muito dinheiro, mas não o suficiente para trazer de volta a vida de Mário Rodrigues, de Roberto e de Joffre, nem a saúde de Nelson, nem o futuro que os esperava se não tivesse acontecido aquele rosário de tragédias.
Quando o dinheiro chegou-lhes às mãos, quase um ano depois, em 1956, os Rodrigues compraram para dona Maria Esther um apartamento no aristocrático Parque Guinle, nas Laranjeiras, e dividiram o resto entre eles. O apartamento, que servira até há pouco à embaixada da Austrália, podia ser percorrido por cangurus: tinha 430m2, quatro quartos, um salão, uma sala de jantar e uma “sala íntima”. O arquiteto Sérgio Rodrigues, filho de Roberto, decorou-o ao estilo ultramoderno do estúdio que acabara de inaugurar, a “Oca”. A decoração incluía uma mesa de jantar com quatro metros de comprimento por 1,70m de largura, em jacarandá maciço, que teve de construir na própria sala. Era uma mesa formidanda até para um apartamento como aquele, mas, contando apenas os Rodrigues residentes, havia “quorum” para enchê-la a cada almoço. Porque, exceto Mário Filho, Nelson, Augustinho e Paulo, todos os outros filhos — Milton e as seis moças — continuavam solteiros e morando com a mãe.
Mesmo antes de sair a indenização, os Rodrigues já tinham se posto de pé sobre os escombros de “Crítica”, ido à luta e vencido. Mário Filho os conduzira na longa caminhada e, no processo, apurara-se para a vida e para o sucesso.
Era um cavalheiro, incapaz de uma grosseria. Sempre de terno, gravata e charuto — fumava uma caixa de “Ouro de Cuba” a cada dois dias, menos dois charutos que lhe eram confiscados diariamente por seu ajudante-de-ordens, o preto Floriano, que ele chamava de “Marechal”. (Fingia não perceber que “Marechal” fumava a mesma marca que ele.) Mário Filho acendia o charuto com fósforo e guardava o palito dentro da caixa.
Outro toque que o definia era o “Jornal dos Sports” enrolado no bolso do paletó, onde quer que estivesse. Tinha ciúme de seu exemplar, não gostava que o filassem. Pois se ele, que era dono do jornal e podia tê-lo entregue em casa, comprava o seu exemplar na banca! Dois exemplares, aliás.
Mário Filho estava casado há quase trinta anos com Célia e ainda lhe deixava, diariamente, bilhetinhos amorosos pela casa, para que ela os encontrasse de surpresa: debaixo do travesseiro, dentro do açucareiro, nas dobras do guardanapo. Moravam num apartamento na avenida Princesa Isabel, em Copacabana, com paredes forradas de Portinaris e Di Cavalcantis. Portinari continuava a ser sua grande admiração. Desde 1945 vinha escrevendo, a lápis e com aquela letra desenhada, a biografia do amigo. Mas não era uma biografia comum. Tratava só da infância de Candinho em Brodósqui. O livro terminaria com Candinho no trem, a caminho do Rio — antes de chegar à Escola de Belas Artes, antes de se defrontar com Roberto. Outros que contassem a vida de Portinari dali para a frente, com uma isenção que ele não teria.
Em todo aquele tempo não se conhecia um único romance de Mário Filho fora do casamento, nem mesmo um flerte. Se não tivesse um encontro de negócios, almoçava em casa todo dia. (Três vezes por semana, comia uma feijoada com direito a orelha, pé, focinho, paio, lingüiça. Inverno ou verão, tanto fazia.) Tinha uma mini-sinuca no apartamento, que jogava com seu neto, Mário Neto, filho de Mário Júlio. E era com Mário Neto que gostava de ir ao Maracanã, mais do que como presidente da República, com o prefeito ou com qualquer um. Não se limitava aos clássicos de gala. Se houvesse um clube grande em campo, ele queria ver.
O Fluminense não se conformava por Mário Filho nunca declarar-se tricolor. Todos os Rodrigues eram Fluminense e ele, que era o mais importante, não podia ser outra coisa. Então, por que não confessava? Já fora Fluminense, mas só até 1928, dizia Mário Filho. Desde então torcia apenas pelas “seleções brasileira e carioca”. O Fluminense se conformaria com isso, se não suspeitasse de que Mário Filho fosse, secretamente, Flamengo. Mário Filho negava que fosse Flamengo e o Fluminense acreditava. Mas, quando o Fluminense ia ver, lá estava Mário Filho cercado de seus amigos flamengos: Bastos Padilha, José Lins do Rego, Ary Barroso, Moreira Leite e, agora, Gilberto Cardoso, Dano de Melo Pinto e Fadel FadeI. Tinha amizades também nos outros clubes, mas com os rubro-negros era diferente — parecia falar em código com eles. O Fluminense não achava isso certo.
E havia umas coisas realmente difíceis de entender. A história de Dóri Kruschner em 1938, por exemplo. O grande treinador húngaro estava sendo importado por Arnaldo Guinle, presidente do Fluminense. E aí Mário Filho intrometeu-se e convenceu Bastos Padilha a desviá-lo para o Flamengo. Dóri Kruschner fez uma revolução tática no futebol brasileiro e foi o Flamengo que levou a fama. Depois, Mário Filho escreveu aquele livro maravilhoso, “Histórias do Flamengo”. Por que não um “Histórias do Fluminense”? E ele vivia publicando coisas suspeitas sobre o Flamengo. Por exemplo:
“Por que o Flamengo se tornou o dube mais amado do Brasil? Porque o Flamengo se deixa amar à vontade. Não impõe restrições a quem o ama. Aceita o amor do príncipe e do mendigo e se orgulha de um e de outro. Se um flamengo matasse pelo Flamengo, seria um herói; se morresse por ele, um mártir ou um santo. O Flamengo nunca se envergonhou de nenhum jogador que lhe vestisse a camisa.”
E por aí afora. Só de coração alguém escreveria uma coisa dessas, pensava o Fluminense.
Mário Neto, que nasceu tricolor e viveu com Mário Filho a vida toda, sempre achou que seu avô era Flamengo, embora nunca admitisse. Uma das primeiras recordações de Mário Neto era a de um Flamengo x Botafogo em 1955, quando ele tinha oito anos. Jogo duro. Quando Dequinha fez o gol que seria o da vitória, Flamengo 1 x 0, Mário Filho pulou da cadeira. Em pleno ar, sentiu que não devia fazer aquilo e passou o resto do jogo quieto, mas feliz.
Mas, para Mário Neto, a prova definitiva foi um Fla-Flu de 1959. Mário Neto queria uma bandeira do Fluminense. Mário Filho deixou-o comprar, mas obrigou-o a comprar também uma do Flamengo. “Fica melhor assim”, disse. Só que a do Flamengo, escolhida por Mário Filho, era o dobro da bandeira do Fluminense. O tricolor ganhou por 2 x 0, gols de Valdo e Telê. Mário Filho voltou amuado para casa e não deixou o neto abanar sua bandeira pela janela do “Buick” preto. O motorista de Mário Filho, o Chaves, sempre de farda, quepe e luvas, achava graça. Sabia a diferença que uma vitória ou derrota do Flamengo provocava no humor do patrão.
Em 1956, Mário Filho iria realizar uma de suas mais felizes promoções: trazer a guarnição de remo da Universidade de Cambridge para enfrentar remadores brasileiros na inauguração do Estádio de Remo da lagoa. O Rio viveu um “domingo de regatas”, como poucos desde 1900. Sob um céu azul de folhinha, centenas de milhares de cariocas fecharam o anel da lagoa — então muito maior que o de hoje, porque antes daqueles aterros criminosos. Falou-se em um milhão de pessoas, mas talvez fosse exagero, o Rio tinha menos de três milhões. Mas era gente que não acabava mais. Os ingleses do Cambridge chegaram em primeiro, o Flamengo em segundo e, na rabeira, as outras guarnições. Aquele dia ficaria na lembrança dos cariocas durante anos — e esse era mais um motivo para que os outros irmãos olhassem para Mário Filho como se, mesmo que quisesse, ele não conseguisse errar.
Milton mais do que todos porque, aos cinqüenta anos em 1955, ele vira a maioria de seus sonhos virar fumaça. Fora o primeiro a querer fazer teatro, mas só conseguira escrever algumas revistas, e sob pseudônimo. Dera-se melhor no cinema, escrevendo e dirigindo filmes que, para quem os viu, estavam acima da média do que se fazia no Brasil: “Alma e corpo de uma raça” (que inaugurou em 1938 o cine São Luiz, no largo do Machado, com a presença de Getúlio), “Pureza” (1940), “O dia é nosso” (1941), “Caminho do céu” (1942), “Cem garotas e um capote” (1945) e “Somos dois” (1950). Mas o cinema era um negócio ingrato: Milton tinha de pôr dinheiro de seu bolso nas produções e raramente o via de volta. E, em 1947, metera-se numa empreitada que, de tão generosa, quase o levaria à lona: o “Balé da juventude”.
Era uma companhia profissional dedicada ao repertório clássico, com um elenco de dezenas e uma folha de pagamento que assustaria Florenz Ziegfeld — porque Milton pagava o dobro que o corpo de baile do Municipal. O “Balé” estreou bem no Phoenix e saiu em turnê nacional, mas não passou de Belo Horizonte. Os financiamentos que haviam prometido a Milton não apareceram. Conseguira apenas o apoio da UNE, o que não queria dizer muito, e agora dependia da bilheteria. Esta fracassou, o dinheiro acabou e eles não podiam nem fechar a conta do hotel em Belo Horizonte. O gerente do hotel quis prendê-los, mas Milton ofereceu-se para ficar como refém se os outros fossem liberados. O gerente aceitou, a turma voltou para o Rio e Milton, a custo, levantou dinheiro por telefone para liquidar a dívida. Mas o “Balé” o quebrara..
Só foi recuperar-se em 1950 quando ganhou a concorrência internacional para filmar a Copa do Mundo que se realizaria no Brasil. É verdade que, para isso, Mário Filho palpitou junto à CBD, cujo presidente era Rivadávia Correia Mayer, e este palpitou junto à FIFA, cujo presidente era Jules Rimet. Mas isso não desmerecia a sua escolha porque Milton era um craque para filmar futebol, como se lembram os fãs de seu cinejornal “Esporte em marcha”. Os filmes da Copa de 1950 circularam à larga pelo Rio naquela década, mas desapareceram misteriosamente por volta de 1963 — cópias, negativos, tudo. Podem ter queimado num incêndio no prédio do “Cineac-Trianon”, onde estavam guardados. Mas os Rodrigues garantem que foram roubados, não sabem por quem.
Augustinho tinha uma carreira muito mais regular que a de Milton. Em 1936, herdara os empregos de seu irmão Joffre em “A Nota” e no “Diário Carioca”, em 1937 fora para “O Globo” e em 1940 substituíra Mário Filho à altura como editor de esportes. Ficara lá até 1951, com uma rápida passagem nos anos 40 por “Diretrizes”, o primeiro semanário de Samuel Wainer. Quando Samuel o chamara para “Última Hora” em 1951, já o conhecia bem. Mas Augustinho o surpreendera: transformara o futebol numa grande atração do jornal. Em dia de clássico, por exemplo, despachava dez fotógrafos para o Maracanã.
Um dos fotógrafos ia para a marquise do estádio com uma teleobjetiva, para fotografar as reações da torcida. Em campo ficavam dois atrás de cada gol; dois nas laterais; um na boca de cada túnel; e Jáder Neves com a máquina de seqüência, uma câmara equipada com um disparador que funcionava como uma metralhadora — pegando cada movimento dos jogadores em determinados lances. Augustinho dava uma página inteira com a seqüência, como fez na primeira partida da decisão de 1951 entre Fluminense e Bangu. Quadro a quadro, podia-se ver Orlando “Pingo de ouro” correndo, preparando o chute, chutando, Oswaldo “Topete” se atirando, quase pegando, a bola entrando em câmara lenta, e, na seqüência, Carlyle passando pelo goleiro, desmanchando o seu topete, Oswaldo reagindo, Carlyle brigando e sendo expulso. Se você olhasse depressa, parecia um cineminha. Os cadernos de esporte de “Última Hora” eram para se ler e guardar.
Em 1951, o Fluminense fora campeão carioca e esse campeonato iria ficar memorável para os tricolores, graças às cores de “Última Hora” e à mística do “timinho” criada por um repórter de Augustinho: seu irmão Paulo Rodrigues, o caçula da família. O treinador do Fluminense era Zezé Moreira, famoso por armar seus times na defesa. Com Zezé, o Fluminense ganhava por 1 x O ou empatava em 0 x 0. A imprensa e os adversários o ridicularizavam, chamando-o de “timinho”, mas, de zero em zero, o Fluminense ia subindo na tabela. Paulinho assumiu a pecha do “timinho” e foi assim que a “Última Hora” passou a tratar o Fluminense. Ao fim do campeonato, sentiu-se duplamente vitorioso: como jornalista e como tricolor.
Paulinho escrevia quase tão bem quanto os irmãos e começava a construir sua reputação. O que o atrapalhava era sua assombrosa timidez. Parecia tão frágil que se tornava quase incorpóreo. Quando se via diante de seus ídolos no Fluminense — Castilho, Didi, Pinheiro, Telê —, deixava de ser o jornalista e, apesar de já ter passado dos trinta, corava como um torcedor adolescente. Mal conseguia articular uma pergunta. De volta à redação, inventava as entrevistas. Os jogadores liam e gostavam, porque Paulinho fazia-os “dizer” coisas que escapavam ao seu ramerrão.
Na semana da decisão do campeonato de 1951, ele se defrontara com algo muito mais terrível — a morte — e soubera ser bravo. O Fluminense se escondera para o jogo final com o Bangu, concentrando-se num lugar secreto, fora do Rio. Paulinho descobriu que esse lugar era um sitio em Miguel Pereira e rumou para lá com o fotógrafo Ângelo Gomes. Chovia horrores e, perto de Miguel Pereira, uma ponte desabou sob o jipe da reportagem. O jipe mergulhou no rio. O motorista e o fotógrafo, sentados na frente, safaram-se logo, mas Pau-linho continuou preso no banco de trás. Engolindo muita água, conseguiu libertar-se e sair do jipe. Grogue como estava, nadou contra a correnteza e foi salvo por Ângelo, que o puxou para a margem.
Escapara das águas — mas, se já era um prodígio de inibição, depois desse trauma Paulinho tornou-se quase oculto por elipse.
Não havia domingo à noite em que as mulheres de Nelson, Augustinho e Paulinho não ligassem para a redação de “Manchete Esportiva”, na rua Frei Caneca, em 1955. Queriam saber se seus maridos estavam mesmo trabalhando.
Boa parte da revista era feita durante a semana, mas as páginas quentes, as que todo mundo queria ler, eram produzidas no domingo à noite, logo depois do jogo no Maracanã. Assim que Sua Senhoria trilava o apito final, seus repórteres e fotógrafos corriam para a redação. Trabalhavam feito doidos e, no dia seguinte, cedinho, “Manchete Esportiva” estava nas bancas, com o herói da partida na capa, num vistoso “ektachrome”. Era uma façanha notável para uma revista naquele tempo — e ainda é.
“Manchete Esportiva” foi uma idéia de Mário Filho para Adolpho Bloch. Juscelino acabara de ser eleito em outubro daquele ano. Carlos Lacerda ameaçara “impedir sua posse a tapa”, não conseguira, e Adolpho Bloch apostava na mensagem “otimista” de JK para o Brasil. Quando Mário Filho propôs-lhe criar uma revista como “Manchete”, só que de futebol, Adolpho perguntou:
“Mas isso vende?”. Mário Filho garantiu que sim, principalmente quando o Flamengo ou o Vasco venciam. Adolpho Bloch achou esquisito publicar uma revista que dependia da vitória de um time para vender. Mas, se JK estava otimista, ele também tinha de estar. Comprou a idéia:
“Está bem. Quando é que você começa?”
“Eu não começo”, respondeu Mário Filho. “Posso fazer uma coluna semanal. Tire Augustinho, Nelson e Paulinho da ‘Última Hora’ e você terá um time — um escrete.”
Foi como nasceu “Manchete Esportiva” em 1955. Augustinho despediu-se de Samuel Wainer e saiu para dirigir a revista; Paulinho idem, para ser chefe de reportagem. Nelson não saiu de “Última Hora”, mas praticamente mudou-se para a redação da Frei Caneca. Tornou-se redator principal da “Manchete Esportiva” e, de lá, escrevia “A vida como ela é...”, que Samuel Wainer mandava buscar. Mário Filho fazia uma coluna, como prometera. Augustinho tirou Ney Bianchi do “Jornal dos Sports”; Ronaldo Bôscoli, de “Última Hora”; e Arnaldo Niskier, da própria revisão de “Manchete”. Os fotógrafos eram Jáder Neves, Ângelo Gomes, Jankiel Gonczarowska, Hélio Santos e Juvenil de Souza. Com esse time para fazer a revista — de fato, um escrete —, só faltava o Flamengo perder o campeonato carioca de 1955 para o América e transformar a revista num ovo gorado.
Mas o Flamengo não perdeu. Na verdade foi tricampeão, porque já tinha sido campeão em 1953 e 1954. E, em 1956, o campeão foi o Vasco. Ou seja, tudo como Mário Filho dizia que deveria ser. Menos numa coisa: mesmo com o Flamengo ou o Vasco por cima, “Manchete Esportiva” não conseguia interessar os anunciantes. Uma vez na vida, outra na morte, aparecia um anúncio de cerveja, brilhantina ou lâmina de barbear. O texto da revista era moderno, as fotos espetaculares e o que Nelson e Mário Filho escreviam deveria constar de antologias — e, com tudo isso, “Manchete Esportiva” era um fracasso comercial. Adolpho Bloch olhava para ela como se fosse algo que o gato tivesse trazido da rua. Só pensava em enterrá-la.
Talvez fosse uma revista inteligente demais para o torcedor comum de futebol, cujo QI não era muito mais cintilante do que o de Tuninho, o anti-herói de “A falecida”. A capa do número um mostrava Rubens, um ídolo que a torcida do Flamengo chamava de “doutor Rúbis”, fantasiado de “doutor” — de toga e capelo, equilibrando uma bola na cabeça. Outras edições tinham o tricolor Didi vestido de “Rigoletto”, fotografado no Teatro Municipal, e o vascaíno Bellini como o Radamés de “Aída”, ao lado de Adalgisa Colombo como a própria. Chique demais, não? A cobertura de Flamengo e América, na decisão de 1955, foi apresentada como um solilóquio de Dida, o artilheiro do jogo, autor dos quatro gols do Flamengo. E o que Dida ia contando era ilustrado pelas fotomontagens, pelas seqüências quadro a quadro e outros efeitos criados por Augustinho e executados por seu diretor de arte Ricardo Parpagnoli. Talvez “Manchete Esportiva” fosse muito acima dos padrões para uma revista de futebol — mas eles não saberiam fazer diferente.
Nelson podia ser o “redator principal”. Mas sua principal atividade era passar boa parte do dia ao telefone falando com mulheres — ao único telefone, como era comum nas redações. Adolpho Bloch fingia que não via. Mas, quando passava pela porta da redação e via o repórter Ney Bianchi ao telefone, falando a serviço, dizia com a sua voz de baixo profundo:
“Sai desse telefone, Ney Bianchi! Já me basta o Nelson Rodrigues!”
Os colegas passavam trotes maldosos em Nelson. Ronaldo Bôscoli, que ele chamava de “a última ‘vamp’ do Brasil”, convencia alguma estagiária de “Manchete” a ligar para Nelson, dizendo-se apaixonada. A redação de “Manchete” ficava ao lado, separada por um vidro. Nelson ia atender e, pelos quarenta minutos seguintes, os colegas podiam vê-lo e ouvi-lo sendo tapeado. Mas alguns suspeitavam de que ele sabia que era trote — e se submetia assim mesmo, para rir por último.
E, além disso, quem sabe a moça podia apaixonar-se?
Descontado o dinheiro do apartamento no Parque Guinle, o que sobrou da indenização de “Crítica” foi pulverizado entre os irmãos. Pulverizado é modo de dizer. A parte de Mário Filho, ele aplicou em novas máquinas para o “Jornal dos Sports”. Dulcinha montou uma companhia de teatro. Outros compraram a casa própria. Stella recuperou um romance que publicara em 1945, “Tire a máscara, doutor!” (um libelo contra os médicos irresponsáveis que, segundo ela, infestavam a profissão) — e transformou-o numa peça que montou no Teatro São Jorge em 1958 com sua parte do dinheiro. O espetáculo foi elogiado, mas a denúncia se dissolveria sem escândalo se três sociedades de medicina não tivessem se ofendido. Bernard Shaw podia denunciá-los à vontade, como fizera em “O dilema do médico”, mas Stella não, porque era médica. O “esprit de corps” empunhou o bisturi e as sociedades de medicina chegaram a reunir-se para tentar cassar-lhe o diploma. Em meio a todas aquelas gazes e iodos, a peça tornou-se notícia e ficou oito meses em cartaz. E, como sói, nada aconteceu com ninguém.
Nelson deu um fim mais prático ao seu dinheiro: comprou um apartamento em Teresópolis, em nome de Joffre e Nelsinho, para passar feriados longos como carnavais ou Páscoas. Ele próprio raramente ia. Comprou também um carro — um “De Soto” 1952, verde, de quatro portas. Não para ele, que não sabia a diferença entre o freio e o espelho retrovisor, mas para Elza. Ela foi a titular do “De Soto”, que vivia enguiçando, enquanto Joffre acumulava idade para tirar carteira. Quando isso aconteceu, em 1959, o motorista da família passou a ser ele. Outra parte do dinheiro Nelson emprestou a “Tuninho”, irmão de Elza, para que ele quitasse uma casa que comprara na ilha do Governador.
Mas a aquisição mais emocionante para Nelson foi uma eletrola hi-fi, pé-de-palito, na qual ele agora podia pôr os discos para cair no automático. Tornou-se uma rotina: chegar em casa à noite, empilhar dez ou doze discos, fechar os olhos, juntar as pontas dos dedos e ficar ouvindo em contrição. Seu gosto musical podia ser considerado amplo, desde que os cantores não poupassem o gogó: Beniamino Gigli ou Tito Schipa cantando árias de ópera italiana, Vicente Celestino em “O ébrio” e “Ontem eu rasguei o teu retrato”, Cauby Peixoto em “Conceição” e daí para baixo, até cantores francamente de churrascaria. Gostava de operetas, canções napolitanas, boleros, tangos, fados — enfim, o que você entenda por ritmos e melodias dramáticos e exagerados.
Por mais que sua vida fora de casa fosse uma girândola de amores, Nelson mantinha uma compostura doméstica que os protegia, a ele e Elza, de maiores atritos. Ela sabia que Nelson tinha seus “casos”, mas não seria capaz de deixa-la. Pois ele não dizia que o casamento já era “indissolúvel na véspera”? E Nelson, por sua vez, continuava a ser o mesmo marido que lhe levava bombons ou sanduíches e deixava-lhe bilhetes com juras de amor eterno no dia de seu aniversário. Talvez Elza tivesse intuído que os amores extraconjugais de Nelson não interferiam no seu casamento. Talvez Nelson precisasse viver num permanente estado de paixão, real ou imaginária, que não a diminuía como sua mulher, nem impedia que o casamento fosse navegando.
Mas nem sempre foi assim. Em 1953, por exemplo, quando a história de Nelson com Yolanda já começara e ele estava no auge de sua paixão não correspondida por Sônia Oiticica, os bate-bocas com Elza ficaram tão freqüentes que, certa noite, no apogeu de uma briga, Nelson anunciou que ia embora de casa. Joffre, que dormia no andar de cima, acordou, sentou-se na escada e ficou ouvindo. Ao sentir que seu pai ameaçava subir para fazer as malas, entrou em cena com surpreendente autoridade para seus doze anos:
“Não vai embora, não! Que história é essa de separar? Vocês são pai e mãe, têm dois filhos. Podem brigar à vontade, mas têm de ficar juntos!”
Nelson, que avançara dois passos em direção à escada, recuou outros tantos, tirou de novo o paletó e não foi embora. Mas ele se queixaria depois:
“Num casal, os bate-bocas ficam enterrados, na carne e na alma, como sapos de macumba.”
Um dos grandes problemas era a vizinhança da rua Agostinho Menezes. Eles liam Nelson diariamente em “A vida como ela é...” e decoravam suas frases: “Num casal há sempre um infiel. É preciso trair para não ser traído”; ou “Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata”; ou ainda, “O amor entre marido e mulher é uma grossa bandalheira. É abjeto que um homem deseje a mãe de seus próprios filhos”. E ficavam se perguntando até que ponto isso tinha a ver com o próprio casamento de Nelson.
E não era segredo para ninguém ali que Nelson era também “Suzana Flag” — agora assinando um “correio sentimental” em “Última Hora”, sob o título de “Sua lágrima de amor”. A ilustração da coluna era um coração flechado e uma resposta típica de “Suzana Flag” a uma carta de leitora podia ser: “Escute, minha amiga: — se você ainda o ama, não precisa perguntar nada a ninguém. Quer melhor resposta do que a do seu próprio coração? O amor significa que você julgou o seu marido e o absolveu. Tenha coragem, minha amiga, coragem de perdoar. E refaça o seu lar”.
Algumas vizinhas achavam que Elza era uma felizarda, por ter se casado com um homem que distribuía conselhos para toda a população feminina do Rio. E tiveram a confirmação disso durante um episódio ocorrido nas suas redondezas e que agitou toda a cidade em 1957: o pacto de morte entre uma jovem da Tijuca e seu professor de violino, com lances do mais fremente folhetim.
A moça se chamava Diva Maria Simões Fróes, era bonita e tinha dezenove anos. O professor, Weniamin Ferberow, era russo, careca, de óculos, 49 anos, casado e com dois filhos. Diva era sua aluna desde os onze anos e o romance vinha desde os dezesseis. Durante muito tempo ela conseguira manter o "affaire” escondido da família. Até que sua mãe descobriu. Diva foi levada à força para a casa dos avós na Bahia, a fim de esquecer o professor. Este foi de avião a Salvador e resgatou-a, mas não a devolveu à mãe: esconderam-se primeiro em Copacabana e, com os investigadores na sua pista, refugiaram-se na casa de uma família finlandesa em Itatiaia.
Os investigadores os encontraram em Itatiaia e os arrastaram para a Polícia Central no Rio. A moça foi internada no Sanatório Nossa Senhora Aparecida, onde teria sido submetida a sedativos e eletrochoques. O professor foi acusado de seqüestro. A história vazou para os jornais, que ficaram contra a mãe e a favor do casal; e a família de Diva saiu pela vizinhança, fazendo correr abaixo-assinados de “desagravo à mãe”. Um desses abaixo-assinados, levado por uma vizinha gorda e patusca, chegou às mãos de Nelson. Ele foi inflexível:
“Não assino nada! Vocês vão acabar matando essa menina!”
Nelson foi tragicamente profético. Dias depois, Diva foi removida para a casa de saúde Santa Lúcia, onde teve permissão para ver o professor e falar com a imprensa. Os dois exibiam olheiras profundas e não se viam há semanas, mas já tinham tudo planejado. Deixaram-se fotografar apaixonados. E então, quase nas barbas dos fotógrafos, retiraram-se rapidamente para um quartinho, tomaram formicida com guaraná e, em um minuto, foram encontrados mortos, um ao lado do outro.
A vizinhança, que torcera histericamente contra o romance, lembrou-se da profecia de Nelson. Alguns citaram uma frase sua que haviam lido, não sabiam onde, e que nunca tinham imaginado que acontecesse de verdade:
“Quem nunca desejou morrer com o ser amado, não amou, nem sabe o que é amar.”
Nelsinho ficou particularmente emocionado com a atitude de seu pai. Diva era sua professora de violino.
“Oh, não! Outra peça do Nelson Rodrigues!”
Esse era o comentário no antigo Necrotério Municipal na praça Quinze, onde funcionava agora o Departamento de Censura Federal. Quando os jornais anunciavam que uma nova peça do “tarado” despontava no horizonte, alguns censores sentiam inveja dos cadáveres que haviam habitado aquelas salas. Sabiam que tinham encrenca pela frente.
Cada peça de Nelson Rodrigues era um impasse para eles. A censura tinha de ser rigorosa, porque ele escrevia coisas que “a sociedade não aceitava”, como diziam. E isso significava cortes de cenas ou palavrões — os censores acreditavam piamente que o texto estava infestado deles. Ao mesmo tempo, achavam que a proibição sumária da peça ou simples cortes eram o que a fome publicitária de Nelson mais queria.
“Esse cachorro dá tudo por uma promoção”, rosnava um dos censores.
E era batata: mal o texto era submetido e a censura anunciava os cortes ou a interdição, Nelson mobilizava os amigos e desencadeava uma campanha pelos jornais que deixava todo mundo mal. Principalmente porque Nelson responsabilizava e chamava de “analfabeto” não o funcionário que se encarregara dos cortes, mas alguém dos altos escalões. O ministro da Justiça, incomodado com a campanha, convocava o chefe do departamento e lhe passava um carão; este, por sua vez, transferia a responsabilidade para o funcionário menor. A peça acabava sendo liberada e o funcionário ficava com cara de ovo perante os seus pares. Por isso nenhum censor, nos anos 50, queria assumir sozinho a responsabilidade de examinar uma peça de Nelson Rodrigues.
Para os censores de 1957, “Perdoa-me por me traires” tinha as mesmas perversões e depravações de tudo que Nelson escrevia, mas eles resolveram deixá-la passar, exceto por uma cena: a de um aborto. Hildon Rocha, chefe da censura, não queria nem imaginar o que a Igreja Católica faria se aquilo fosse ao palco. Mas Léo Júsi, o diretor, impediu que fosse cortada explicando a Hildon Rocha que o efeito não seria tão chocante, porque ele a encenaria em duas mesas ginecológicas. Numa, ficaria a garota, contorcendo-se; em outra, o médico, realizando uma operação imaginária. O médico, segundo Nelson, seria um gângster da profissão”, que chuparia tangerinas e cuspiria os caroços pela sala — a qual, por sinal, lembraria um salão de barbeiro. A intenção de Nelson era justamente a de condenar aquela prática:
“Fazer um aborto não é chupar pirulito na Quinta da Boa Vista”, disse. Hildon Rocha concordou. Mas queria ver a coisa no palco. Qualquer deslize, já sabe.
A “Companhia Suicida do Teatro Brasileiro” era coisa do passado, mas Nelson, Gláucio Gil, Léo Júsi e Abdias do Nascimento continuavam se encontrando no “Vermelhinho”. Encenar “Perdoa-me por me traíres” tornara-se uma obsessão pessoal para Gláucio Gil. Conseguira dez dias no Municipal e iria levar a peça, nem que tivesse de vender seu carro para levantar dinheiro. Vendeu. Nelson entrou com outra parte, do que sobrara da indenização de “Crítica”.
Nelson contaria depois que tirou o tema de “Perdoa-me por me traíres” de um episódio que presenciara em sua infância na rua Alegre: a de um marido traído, ourives de profissão, que, quanto mais traído, mais amava a infiel. Um dia, a adúltera se matou — segundo as vizinhas, induzida pelo próprio marido a beber veneno. No velório, o marido atirava rútilas patadas e gritava para o caixão: “Canalha! Canalha!” No começo, pensou-se que estaria ofendendo a falecida. Só depois se descobriu que o canalha era ele mesmo, autoflagelando-se por ter chamado a adúltera de adúltera e a levado à morte.
Em “Perdoa-me por me traíres”, o assassino ciumento não era o marido, mas o cunhado; na seqüência da história, daí a vinte anos, ele repetiria a triste façanha com a sobrinha — a filha da adúltera —, que pegara para criar. Esse personagem, o de tio Raul, era a figura crucial da peça.
Léo Júsi, o diretor, distribuiu o elenco: Sônia Oiticica seria Judite, a infiel; Gláucio GilI seria Gilberto, o marido; Dália Palma seria Glorinha, a sobrinha. Quem seria Raul?
Ninguém acreditou quando Gláucio Gill propôs que Raul fosse interpretado por Nelson Rodrigues.
E menos ainda quando Nelson aceitou.
- 1957 - A RAJADA DE MONSTROS
Na cena final de “Perdoa-me por me traíres”, tio Raul bebe o copo de veneno, estrebucha, rola três ou quatro degraus de escada e morre espetacularmente. Os amigos de Nelson não conseguiam imaginá-lo fazendo isso no palco. E, muito menos, do Municipal!
“Você não é ator, nunca foi ator! E um canastrão! Como vai saber morrer em cena?”, perguntou um deles.
A lógica de Nelson era irrebatível:
“Um Laurence Olivier, quando morre no palco, morre como Laurence Olivier. Mas, na vida real, ninguém morre como Laurence Olivier. Morre como um canastrão. Portanto, só o canastrão é capaz de estrebuchar no palco com o máximo realismo.”
A idéia de usar Nelson como ator pode ter sido de Gláucio Gill. Mas não seria surpreendente se tivesse partido do próprio Nelson, numa conversa reservada com Gláucio Gill — e depois transformada num convite que, primeiro, ele recusaria, e depois, docemente constrangido, se veria obrigado a aceitar.
Quanto mais eles pensavam no assunto, melhor a idéia lhes soava. Seria a perfeita isca publicitária com que “Perdoa-me por me traíres” poderia sonhar. Além disso, seria apenas por dez dias, o tempo em que a peça ficaria no Municipal. Se o problema fosse Nelson dar conta do papel, eles teriam seis semanas de ensaios. Quanto a outro possível obstáculo — Nelson ter medo do palco —, esse nunca existiu.
Durante aquelas seis semanas, ele foi sempre o primeiro a chegar para os ensaios. Léo Júsi ensinou-o a cair em cena. Fez com ele os exercícios de se deixar jogar em câmara lenta, ensinando-lhe sobre qual parte do corpo concentrar o seu peso. Todo o elenco o ajudava e se esforçava para deixá-lo à vontade. No fundo, os outros atores estavam se divertindo. Mas sem faltar-lhe ao respeito — continham as risotas quando achavam que ele poderia perceber. Sua docilidade como ator espantava Léo Júsi:
“Está bom assim, Léo? No duro? Essa inflexão que estou dando é a que você ouviu nas profundezas dos seus enleios?”, ele perguntava.
Nelson tinha problemas de articulação, como qualquer pessoa que o tenha ouvido falar sabe muito bem. Falava arrastado, com uma “lentidão bovina”, como ele mesmo dizia. Léo Júsi não poderia transformá-lo num Luís Jatobá até abrir a cortina, mas orientou-o para tentar falar um pouco mais depressa. A vantagem era a de que Nelson sabia a peça da primeira à última vírgula e corrigia o elenco quando alguém, mesmo sem querer, se desviava das falas. “Cacos”, nem pensar — pois se nem ele, o autor, admitia dizê-los.
Léo Júsi só fracassou num detalhe técnico: levar Nelson a um alfaiate para fazer o terno com que ele apareceria na peça. Não precisaria ser uma fatiota como as do major Anthony Eden ou do duque de Windsor, mas deveria ser um terno discreto e bem cortado, porque o personagem não era um pé-rapado. Nelson driblou-o e não foi tirar as medidas. A roupa com que apareceu em cena, durante as dez noites, era a que usava durante o dia no “Vermelhinho” ou nas redações de “Última Hora” e “Manchete Esportiva”.
A dias da estréia, Nelson anunciou-se através de “Manchete” (15/6/1957):
Vou estrear como ator. Por dez dias, e nunca mais, representarei no Municipal a minha tragédia de costumes, “Perdoa-me por me traíres”. Há quem me pergunte se não tenho medo do ridículo. Absolutamente. E digo mais: só os imbecis têm medo do ridículo. Considero um soturno pobre-diabo o sujeito que não consegue ser ridículo de vez em quando.
Mais adiante, Nelson dizia:
Além disso, quero ser um exemplo, O engano milenar do teatro é que fez do palco um espaço exclusivo de atores e de atrizes. Por que nós, os não-atores, as não atrizes, não teremos também o direito de representar? Objetará alguém que não dominamos o meio de expressão teatral. Protesto: dominamos, sim. Que fazemos nós, desde que nascemos, senão teatro, autêntico, válido, incoercível teatro? Inclusive na morte, como é lindo o ríctus hediondo da nossa agonia! Para mim, o teatro é uma arte não criada ainda, porque não se escancarou para todos. Dia virá, porém, em que cada um de nós poderá fazer o seu “Rei Lear” de vez em quando. Ninguém nos exigirá nada, senão tarimba vital.
Nelson não podia adivinhar que, a partir dos anos 70, os palcos se encheriam de não-atores e não-atrizes, como ele propunha. E não se pode dizer que o teatro tenha ganho muito com isso. Mas seu depoimento a “Manchete” continha ainda outro trecho que, escrito para apresentar “Perdoa-me por me traíres” e provavelmente a melhor explicação que alguém já escreveu sobre todo o seu teatro. E um trecho que merece leitura e meditação à luz de archotes:
Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico: a ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil, para que não o sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. A partir do momento em que Ana Karenina, ou Bovary, trai, muitas senhoras da vida real deixarão de fazê-lo. No “Crime e castigo”, Raskolnikov mata uma velha e, no mesmo instante, o ódio social que fermenta em nós estará diminuído, aplacado. Ele matou por todos. E, no teatro, que é mais plástico, direto, e de um impacto tão mais puro, esse fenômeno de transferência torna-se mais válido. Para salvar a platéia, é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de insanos e, em suma, de uma rajada de monstros. São os nossos monstros, dos quais eventualmente nos libertamos, para depois recriá-los.
Se tomaram conhecimento dessas observações de Nelson, os puristas não ficaram muito convencidos. Alceu Amoroso Lima foi um. Sua opinião sobre “Perdoa-me por me traíres” estava longe de ser positiva: “Uma peça cuja abjeção começa pelo título”.
Pelos aplausos discretos ao fim dos primeiros dois atos, naquela noite de 19 de junho, a estréia de “Perdoa-me por me traíres” parecia caminhar para uma carreira tranqüila — nada de estremecer os túmulos de Martins Pena ou Gonçalves Dias. Ninguém podia antecipar que uma parte da platéia provocaria um distúrbio ao fim do espetáculo, nem a conflagração que se seguiria — dez vezes pior do que a da estréia de “Senhora dos afogados”, três anos antes.
Nelson, como ator, era de uma sinceridade comovente. Atirou-se de corpo, alma e ectoplasma ao personagem de tio Raul. Até as bofetadas que dava em Dá-lia Palma eram de verdade, ao contrário do que aprendera nos ensaios. A cada tapa que estalava e ardia em seu rosto, Dália Palma torcia para que o veneno no copo de Nelson fosse de verdade. Com tudo isso, a sinceridade de Nelson estacionava no proscênio, não passava para a platéia, segundo uma colega de elenco. Nelson tinha razão ao dizer que a nenhum ator profissional ocorreria que todo personagem “morria mal, morria pessimamente". Ele morreu pessimamente e, segundo os críticos, foi o pior canastrão que já passou pelo Municipal. Mas nada disso teria importância, ninguém esperava que ele fosse um Alec Guiness.
A peça terminou e, atrás do pano, elenco e diretor ouviram os aplausos e, para sua surpresa, vaias. (Depois eles saberiam que, naquele momento, tinham quarenta por cento da platéia a seu favor e sessenta por cento contra.) No decorrer do espetáculo, nada indicava que haveria vaias. A platéia parecera sob controle e rira inclusive do que não era para rir, como na fala em que a adúltera confessa para o marido: “— Até me entreguei por um bom-dia”. Léo Júsi planejara fazer a entrada isolada ou em grupo dos atores para os aplausos. Mas, ao ouvir os apupos, decidiu:
“Vamos entrar todos juntos, de uma vez, de mãos dadas. Vamos agradecer os aplausos e as vaias. Abram o pano.
O pano abriu e isso foi uma espoleta para amplificar as vaias e os insultos. A platéia parecia possessa. Os palavrões que a peça não tinha estavam sendo berrados pelas pessoas mais insuspeitas. Como Nelson contaria depois, “santas senhoras cavalgavam cadeiras e ululavam como apaches”, xingando-o de imoral, indecente e de coisas impublicáveis. Os que aplaudiam o incitavam:
“Fala, Nelson! Fala!”
Mas não havia como falar. Ninguém parecia querer ouvir. Os balcões do Municipal urravam como as arquibancadas do Olaria na rua Bariri. Nelson não se conteve. Deu um passo na direção do proscênio e começou a gritar para as cadeiras e camarotes:
“Burros! Zebus!”
Os burros e os zebus o ofenderam de volta. Pela expressão transtornada de seu rosto, Nelson estava a ponto de descer para enfrentar fisicamente a multidão, para dar e levar pescoções. Seria uma chacina. Gláucio Gil e Abdias do Nascimento o agarraram pelo pescoço, Sônia Oiticica chorava. E, de repente, ouviu-se um tiro. Ou o que se pensou que fosse um tiro.
Meia hora antes, o vereador pela UDN Wilson Leite Passos, 26 anos, passava distraído pela porta do teatro. Viu amigos saindo e esbravejando contra a peça — sabia que era uma peça do abominável Nelson Rodrigues — e resolveu dar uma espiada. Sua carteirinha de operoso edil permitia-lhe entrar no Municipal à hora que quisesse e, com isso, não perdia um espetáculo. Para ele, o Municipal deveria ser uma catedral, um templo, reservado exclusivamente a representações edificantes. Wilson Leite Passos era correligionário de Carlos Lacerda, membro do “Clube da lanterna” e estava convicto de que Nelson Rodrigues era tarado.
Quando chegou ao balcão, a peça estava no começo do terceiro ato. Já não gostou do que viu, mas resolveu esperar pelo pano. Achou um absurdo aquele desfile de taras entre tio e sobrinha num teatro da Prefeitura, mantido com o dinheiro do contribuinte, mesmo que o prefeito fosse Negrão de Lima com seu ridículo chapéu “gelot”. Resolveu que, amanhã mesmo, ia falar com Negrão. O pano caiu, parte da platéia começou a aplaudir, a maior parte a vaiar. Nelson Rodrigues veio à boca de cena e se pôs a chamar a platéia de “Zebus!”. Wilson Leite Passos sentiu-se na obrigação de lavrar um protesto contra aquela cena desprimorosa num próprio da municipalidade. Afinal, era um vereador.
Valendo-se de sua voz de tribuno, conseguiu fazer-se ouvir sobre a balbúrdia e declarou:
"É um deplorável atentado à moral e aos bons costumes, incompatível com um teatro destinado a óperas, balés e clássicos sinfônicos!”
Um cidadão, dos que aplaudiam, afrontou-o no próprio balcão:
“Palhaço!”
Wilson Leite Passos, desabituado a esse tratamento, reagiu:
“Palhaço é você!”
O homem partiu para cima dele. Wilson Leite Passos empurrou-o e o homem caiu sobre as cadeiras do balcão. O homem se levantou, voltou à carga e foi então que Wilson Leite Passos sacou sua arma — uma pistola “Walther”, favorita entre os vereadores.
Uma arma na multidão é sempre qualquer coisa de assustador. Nem precisa disparar. O que era um bafafá transformou-se num tumulto, com espectadores dando shows de saltos ornamentais e corrida de obstáculos, pulando do balcão para a orquestra e galopando por cima de poltronas para salvar a vida. Ninguém sabe se houve um tiro — Wilson Leite Passos iria no dia seguinte ao programa de Gilson Amado na w Tupi para garantir que não houve —, e certamente não houve. Mas a versão de Nelson sobre o episódio podia dar a entender qualquer coisa. Ele escreveria muitas vezes que o vereador “puxara o revólver e, como um Tom Mix, queria fuzilar o texto”. Wilson Leite Passos, depois daquilo, andaria sendo chamado de “trêfego vereador da UDN”.
E foi uma sorte que Wilson Leite Passos não tivesse assistido ao primeiro ato. Nele, Abdias do Nascimento interpretava o personagem, este, sim, tarado, do deputado Jubileu de Almeida. O deputado era mostrado num bordel de normalistas, tendo um orgasmo ao ouvir a garota recitar-lhe um ponto de Física, enquanto suplicava para ela:
“Diz que eu sou reserva moral da nação!”
O escracho era absoluto porque a expressão “reserva moral” era algo que se aplicava apenas a certas figuras eminentes da República — pessoas sobre as quais não restava a menor dúvida, como o senador Milton Campos, o deputado Otávio Mangabeira e o brigadeiro (“e bonito e é solteiro”) Eduardo Gomes, todos da UDN. Otávio Mangabeira orgulhava-se de dizer que só lia a Bíblia e “Seleções”. O “bordel de normalistas”, naturalmente, era uma fantasia carioca, mas a idéia de flagrar nele um deputado (numa época em que ainda se levava em alta conta o decoro parlamentar) era um acinte. E, para piorar, o deputado Jubileu de Almeida era negro, porque interpretado por Abdias do Nascimento.
Ao contrário do que se possa pensar, não havia nenhuma intenção de Nelson em fazer com que o deputado fosse negro. Nem o texto da peça especificava isso. Abdias é que adorara o papel e se apoderara dele. (E, como a vida imita a arte, no futuro o próprio Abdias se tornaria deputado e senador pelo PDT.) O nome “Jubileu de Almeida” também não era uma criação de Nelson, mas de Hélio Pellegrino, e fora popularizado por Otto Lara Resende no “Diário Carioca” como um candidato fictício ao governo do Maranhão.
O elenco saiu humilhado do palco e, por falta de gente a quem ofender, a platéia também foi embora, fazendo gestos na direção das cortinas. No camarim, Nelson não se conformava:
“Eles não enxergam, Léo”, dizia para Léo Júsi.
Júsi não o deixou abater-se. Convenceu-o a ir com os outros para o “Vermelhinho”. Iriam comemorar as vaias, os aplausos, o sururu, o fato de a peça ter mexido com a platéia e até o de terem sobrevivido. Poucas horas depois, tomando uma média com pão canoa, Nelson já estava reconciliado com as vaias — e até exultando com elas. No futuro, ele escreveria:
Quem não gosta, simplesmente não gosta, vai para casa mais cedo, sai no primeiro intervalo. “Perdoa-me por me traíres” forçara na platéia um pavoroso fluxo de consciência. E eu posso dizer, sem nenhuma pose, que, para a minha sensibilidade autoral, a verdadeira apoteose é a vaia.
A apoteose teria ainda um último ato. No dia seguinte, a censura proibiu “Perdoa-me por me traíres”.
Mas, como? Já não tinha sido liberada? Três censores haviam assistido aos ensaios e dado o OK. E a estréia não se afastara um milímetro do que havia sido combinado.
Foi um corre-corre. Nelson, Léo Júsi e Gláucio Gill compareceram naquela mesma manhã ao gabinete de Hildon Rocha. E Hildon Rocha, mais uma vez, foi compreensivo. Não era com ele, a censura estava satisfeita. Era o vereador Wilson Leite Passos, fazendo uma campanha junto a Negrão de Lima, dizendo que o Municipal estava sendo avacalhado pelo espetáculo. E eram setores da Igreja, que não se conformavam com a cena do aborto. Sugeriu-lhes que pedissem apoio a dom Helder Câmara.
O bispo auxiliar do Rio de Janeiro era uma das figuras mais populares e acatadas da cidade. Sua principal promoção, a “Feira da Providência”, no Iate Clube, era um sucesso anual, embora chovesse infalivelmente durante a sua realização. E dom Helder era um padre moderno. Fazia um programa diário na rádio Globo, uma preleção de quinze minutos, e depois ia tomar cafezinho com os jornalistas no botequim da rua Irineu Marinho, onde agora ficava “O Globo”. Léo Júsi procurou-o em sua casa, no Palácio São Joaquim, defronte ao relógio da Glória. Dom Helder foi muito receptivo. Entendeu que a peça não confrontava a posição da Igreja e que a tal cena era uma franca condenação do aborto. Prometeu e falou no mesmo dia com dom Jaime de Barros Câmara, e convenceu-o. Nelson e Gláucio Gill, por seu lado, falaram com Negrão.
Com esses avales, “Perdoa-me por me traíres” foi liberada e, a partir daquela mesma noite, seguiu uma carreira de casa lotada no Municipal, sem qualquer incidente. Por isso, o espetáculo que havia sido anunciado como uma temporada de dez dias, “para nunca mais”, teve de estender-se por mais dois meses no Teatro Carlos Gomes — só que, agora, com um substituto no papel de Raul. Nelson encerrara sua carreira de ator.
Mas não a de autor “maldito”. Poucas de suas peças terão sido tão enxovalhadas pela crítica. Paulo Francis, que gostava de Nelson e achava “Dorotéia” um dos maiores espetáculos que já vira, atacou “Perdoa-me por me traíres” na própria “Última Hora”. E Henrique Oscar, do “Diário de Notícias”, insinuou que Nelson contratava claques ao contrário — ou seja, gente para vaiá-lo e chamá-lo de tarado e obsceno. (Não explicou se Nelson contratara Wilson Leite Passos para sacar a pistola.) Nelson rompeu com os dois. Ao saber que Francis o chamara de ignorante, apenas riu:
“Eu li muito mais do que o Paulo Francis! Ele pula de um livro para o outro como uma gazela!”
Quanto a Henrique Oscar, foi duro. Disse a um amigo:
“Leonardo da Vinci está morto, mas Henrique Oscar viverá para sempre, porque a burrice é eterna.”
Certas críticas negativas atingiam Nelson como se fossem uma desfeita pessoal. Que os outros jornais tentassem demoli-lo, ele entendia — afinal, pelo fato de ser da “Última Hora”, jamais seria elogiado pela “Tribuna da Imprensa” ou pelo “Correio da Manhã”. Mas ser criticado no seu próprio jornal fizera a úlcera soltar fogos de artifício em seu duodeno. Chegou arrasado à redação de “Última Hora”. Seu colega Francisco de Assis Barbosa, jornalista e biógrafo de Lima Barreto, tentou animá-lo:
“Não ligue para isso, Nelson. A peça é genial, digna do melhor Shakespeare! Você foi profundo!”
“Você acha mesmo, Chico?”
“Acho, perfeitamente!”
Nelson foi rápido no gatilho:
“Você escreve isso?”
“Sem dúvida. Me dê um papel”, disse Francisco de Assis Barbosa.
Francisco de Assis Barbosa datilografou algumas linhas e passou o papel a Nelson. Este leu e disse:
“Você esqueceu o negócio do Shakespeare.”
Francisco de Assis Barbosa pôs de novo o papel na máquina e fez a emenda: “Digno do melhor Shakespeare!”. Devolveu-o a Nelson. E Nelson:
“Você não vai assinar?”
“Claro. Quer também que eu reconheça a firma?”
E Nelson, sério:
“Qual é o cartório?”
Dulce Rodrigues antipatizou com Jece Valadão no minuto em que ele lhe foi apresentado em 1957. Se Rodolfo Mayer não insistisse tanto, ela nunca o teria aceito para o papel do chofer sedutor, na remontagem de “A mulher sem pecado” que iria produzir. Achou Valadão inadequado para o personagem, que exigia um ator mais fino, menos cafajeste. Enfim, agora que o contratara, ia ver o que se podia fazer. E viu mesmo. Quatro meses depois, estava casada com ele.
Jece Valadão, ao contrário, teve a melhor impressão de Dulce naquele primeiro momento. Achou-a bonita, inteligente e sensível. E era uma empresária, aquela companhia era dela — “Companhia Dulce Rodrigues” —, devia estar bem de vida. Melhor do que ele, que viera do Espírito Santo, fizera umas pontas em filmes como “Carnaval no fogo” (1950) e “Amei um bicheiro” (1953), e só recentemente, em 1955, conseguira um bom papel, em “Rio quarenta graus”, de Nelson Pereira dos Santos. A censura tentara proibir esse filme, acusando-o de ser propaganda comunista, porque no Rio nunca fazia quarenta graus. Mas agora estávamos em 1957 e, aos 27 anos, Jece Valadão ainda não podia escrever para casa dizendo que era um astro do cinema nacional. Então resolvera fazer um pouco de teatro para ganhar experiência.
Acabou ganhando até a patroa, mas, para isso, teve de casar-se com ela. O impressionante era como tudo tinha sido tão rápido. Nem se lembrava de quando Dulce começara a vê-lo com outros olhos e a gostar dele. Quando se deu conta, estavam assinando os papéis diante do juiz, em meio ao luxo oriental daquele apartamento no Parque Guinle. E mal haviam trocado uns beijos — nada mais do que isso — durante aqueles quatro meses. Dulce fora inflexível: primeira noite, só depois do casamento religioso. Quando os últimos convidados saíram, ela o chamou a um canto e disse:
“Jece, há uma coisa que você precisa saber. Não sou virgem. Foi só uma vez, mas aconteceu. Você tem o direito de tomar a atitude que quiser.”
Jece ficou sem saber o que dizer. Para ele, a virgindade era um detalhe, uma coisa de 1913, por que fazer tal carnaval com uma reles película? O que o encantava era a sinceridade de Dulce, de sentir-se obrigada a contar-lhe aquilo, embora com ligeiro atraso. Talvez não tivesse tido coragem de contar antes. E se ele fosse como os outros, ficasse indignado e quisesse desmanchar tudo? Mas Jece a tranqüilizou: não tinha nenhuma atitude a tomar, não queria saber com quem tinha sido ou quando (só mais tarde soube que fora há dez anos e com um famoso humorista), daí a vinte dias se casariam na igreja do Outeiro da Glória e só então consumariam o casamento. O que aconteceu.
Os irmãos e irmãs de Dulce olharam de saída para Jece Valadão como se ele fosse um caça-dotes. E com razão: ele também se achava um caça-dotes. Nem era para menos. Bastava observar os nomes que freqüentavam as festas estilo Cecil B. DeMille que a família Rodrigues dava no Parque Guinle — o ministro Luiz Galloti, Armando Klabin, Ary Barroso, “Baby” Bocayuva, Samuel Wainer e Danuza Leão, um ou outro Vargas. E os artistas que iam animá-las de graça? Ataulfo Alves e suas pastoras, Silvio Caldas, Heitor dos Prazeres, José Vasconcellos. E os quadros nas paredes? Jece era incapaz de criticar uma aquarela, mas, pela assinatura — Portinari —, sabia que eram bons. Contou pelo menos cinco. Os Rodrigues haviam recebido uma espécie de herança e estavam torrando dinheiro. Dulce era uma empresária teatral bem-sucedida, arrendara o Serrador, sua companhia levava o fino do teatro. E ele era um duro — além de um ano mais novo do que ela. Logo, era ou não era um caça-dotes?
Os Rodrigues começavam a preocupar-se com essa história de suas irmãs se casarem com atores. Um ano antes, em 1956, Maria Clara se casara com Weber de Moraes, que fizera um pequeno papel em “Perdoa-me por me traíres”. Maria Clara era secretária do presidente da Standard Oil, vivia cercada de bons partidos. E, quando resolveu casar, foi escolher Weber — bom rapaz, talentoso, mas excêntrico. Quando se aprontava para sair, exagerava no “rouge”, nas plumas do chapéu e parecia uma árvore de Natal das “Lojas Americanas”. Maria Clara largara o emprego por sua causa, jogara fora mais de dez anos na Standard Oil. E agora Dulce também se casava com um ator.
Valadão não demoraria a descobrir que os Rodrigues tanto sabiam produzir dinheiro como evaporá-lo. Dulce lhe contara que, na mudança da rua General Glicério para o Parque Guinle, tinham perdido um Portinari. Como se consegue perder um Portinari numa mudança? Nelson era outro exemplo. Era famoso até dizer chega, devia ganhar um dinheirão, mas vivia quebrado. Fumava “Caporal amarelinho”, um mata-rato. (Não sabia ainda que Nelson preferia os mata-ratos.) A aparente opulência da família era ilusória. Valadão percebeu que, na verdade, dera um golpe do baú pelo avesso. Mas já sabia o que fazer. No que se referisse a Dulce, iria administrá-la para fazer com que ele e ela ganhassem dinheiro. E a primeira providência era construir um teatro.
Foi como nasceu o Teatro São Jorge, na rua do Catete. Tomaram dinheiro emprestado nos bancos e na SBAT (Sociedade Brasileira de Autores Teatrais), Dulce recolheu os lucros da temporada no Senador e, em poucos meses de 1957, levantaram a casa. Em setembro, o São Jorge foi inaugurado com uma nova peça de Nelson, escrita para eles: “Viúva, porém honesta”.
Nelson encerrara sua temporada como ator em “Perdoa-me por me traíres” no dia 29 de junho; “Viúva, porém honesta” estreou em 13 de setembro — um intervalo de apenas dois meses e duas semanas, tempo em que “Viúva, porém honesta” foi escrita, produzida, ensaiada e levada ao palco. Por que essa pressa toda?
O que passou à História foi que, quando escreveu “Viúva, porém honesta”, Nelson continuava febril de ódio contra os críticos que haviam maltratado “Perdoa-me por me traíres”. Iria vingar-se agora num personagem de “Viúva, porém honesta”, Dorothy Dalton, “crítico das novas gerações”, que Nelson descrevia como “foragido do SAM” (Serviço de Assistência ao Menor, uma FEBEM da época) e homossexual. Estaria querendo dizer que todos os jovens críticos de teatro eram delinqüentes e homossexuais?
Parece um pobre motivo para que Nelson escrevesse uma peça inteira, quando poderia ter resolvido o problema em uma ou duas colunas de “A vida como ela é...”. E, embora ele cultivasse (com gosto) um canteiro de rancores passageiros, seu temperamento não era o de um homem de ódios. Além disso, Nelson sabia que o homossexualismo não era uma regra entre os jovens críticos, nem um privilégio daquela geração — conhecia homossexuais de sobra entre os críticos mais velhos. Seja como for, se sua intenção foi atacar os jovens críticos, mesmo de raspão, o ataque não surtiu efeito, porque nenhum deles pareceu ofender-se. A reputação de Nelson no “Gôndola”, o restaurante que os críticos freqüentavam na rua Sá Ferreira, em Copacabana, continuou a mesma: havia os que o achavam um gênio, os que o achavam um louco e os que o achavam as duas coisas.
E nem os críticos eram a única categoria que Nelson desmoralizava em “Viúva, porém honesta”. O que fazer, por exemplo, do personagem do dono de jornal, o doutor J. B. de Albuquerque Guimarães, um “gângster da imprensa” que tinha força para nomear ministros? Seria uma alusão a Paulo Bittencourt, proprietário do “Correio da Manhã”, de quem se dizia que tinha força pelo menos para derrubá-los? Mas J. B. podia ser também Edmundo Bittencourt, Geraldo Rocha ou até mesmo Mário Rodrigues. Parecia um dono de jornal à antiga, embora nada impedisse que qualquer dos contemporâneos, inclusive Samuel Wainer, envergasse a carapuça. E a quem se endereçava o personagem do psicanalista, doutor Lupicínio, que mantinha uma vitrola caça-níqueis no consultório, cobrava seu silêncio pelo taxímetro e não curava nem brotoeja? E o que Nelson teria contra os velhos clínicos de família, caricaturados no doutor Lambreta, um sátiro lambão que dizia coisas como “Uma boca aberta é meio ginecológica” e “O que estraga o adultério é a clandestinidade”?
Jece Valadão interpretava o demônio em “Viúva, porém honesta”. Um demônio de chanchada, nada demoníaco, mas cínico e amoral: “Diabo da Fonseca, para servi-lo!” — e mostrava a carteirinha. Depois do chofer de “A mulher sem pecado”, era o seu primeiro papel rodrigueano de verdade, de uma série que incluiria mais uma peça, uma novela de TV e três filmes. Nos dois meses em que “Viúva, porém honesta” ficou em cartaz, Valadão iria impregnar-se do espírito dos personagens de Nelson, apoderando-se dos seus estereótipos e incorporando-os ao seu jeito de representar — de tal forma que, no futuro, todos os papéis que faria, em dezenas de filmes, pareceriam “personagens de Nelson Rodrigues”.
Ao fim da carreira de “Viúva, porém honesta”, os Rodrigues haviam assimilado Jece Valadão à família. Apagaram a imagem do caça-dotes e construíram outra, mais verdadeira, do sujeito empreendedor e carinhoso com Dulcinha. A presença de genros à mesa de dona Maria Esther já não parecia tão fora do comum, embora não chegasse a ser tão natural quanto a das noras. Poucos meses depois, outra irmã de Nelson, Irene, se casaria com Francisco Torturra, cinegrafista de Milton no “Jornal da Tela” e em seus outros cinejornais. Já havia até uma neta pela casa: Haydée, de dois anos, a filha que Milton tivera em 1955 com uma namorada, e que também morava com eles.
Cada qual começava a construir agora o seu próprio álbum de família.
Didi caminhou para a bola e bateu a falta contra o Peru. Deu uma “folha seca” — um jeito que inventara de chutar com o lado de dentro do pé, mas, ao mesmo tempo, prensando a bola contra o chão. A bola zarpou e Asca, goleiro peruano, saltou para recolhê-la como se fosse uma mensagem que lhe estivesse sendo trazida por um pombo-correio. Mas, ao aproximar-se do gol, a bola mudou de rumo e descaiu como uma folha seca. Asca quis voltar em pleno salto e saiu caçando borboletas invisíveis pelo Maracanã, enquanto a bola chegava meigamente às redes. O nome “folha seca” e a imagem das borboletas invisíveis tinham sido criados anos antes pelo “speaker” Luís Mendes, da rádio Globo. Brasil 1 x 0, e o gol de Didi classificava o Brasil para a Copa do Mundo de 1958 na Suécia.
No “Jornal da Tela” de Milton Rodrigues, enquanto Didi fazia o gol, o narrador Heron Domingues decretava:
“Está assegurada mais uma viagem de turismo do escrete brasileiro ao exterior.”
Se algum espectador tinha dúvida de que o Brasil iria à Suécia para passear e levar um passeio, deixou de ter. Heron Domingues era o locutor do “Repórter Esso”, tudo que ele dizia era verdade. O futebol brasileiro era covarde, um perdedor nato. Depois da derrota de 1950, no Maracanã, ficara provado que o Brasil tremia diante dos estrangeiros. E, quando não tremia, era moleque — dava botinadas sem sentido, como na Copa da Suíça em 1954. Esse não era o sentimento apenas dos torcedores e dos jornalistas — muitos jogadores também pensavam assim. Só seríamos campeões do mundo no dia de são Nunca.
Em sua nova coluna, “Meu personagem da semana”, na “Manchete Esportiva”, Nelson era uma voz isolada contra a unanimidade:
Eu acredito no brasileiro e pior do que isso: — sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades: o “complexo de vira-latas”. Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, face ao resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Em Wembley [Inglaterra 4 x 2 Brasil, em 1956], por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular, o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 1950, éramos superiores ao nosso adversário. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem: e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples: porque Obdúlio [Obdúlio Varela, capitão do Uruguai] nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos.
O problema do escrete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de dez para segurar, como o chinês da anedota. Insisto: — para o escrete, ser ou não ser vira-latas, eis a questão.
Os colegas riam de Nelson. O Brasil precisaria de muito mais do que fé para não passar vergonha na Suécia. Precisaria de táticas revolucionárias, como as do escrete húngaro de 1954 ou as do “futebol cientifico” da URSS, que se anunciava como o fantasma da Copa. E o treinador do Brasil, Vicente Feola, tivesse paciência, mas nem no seu clube era o técnico. (Feola era supervisor do São Paulo. Gordíssimo, dizia-se que cochilava no banco de reservas durante os treinos. O técnico são-paulino era o húngaro Bela Gutman.) E quer saber o que se dizia antes da Copa sobre os jogadores que depois voltariam como deuses? Que Didi não tinha alma, que Garrincha era um peladeiro, que Vavá era um bonde, que Gilmar cercava frangos e que Pelé, quem era mesmo Pelé?
Mas, depois dos 5 x 2 contra a Suécia na última partida, um outro Brasil se descobriu — ou descobriu o Brasil que Nelson apregoara. Os pesquisadores de hoje fariam bem em investigar se o triunfalismo que identificam aos “anos JK” não teria começado naquele dia 29 de junho de 1958, o do jogo com a Suécia — quando o governo Kubitschek já ia em meio. Se fizerem isso, encontrarão rico material em Nelson. Na edição especial de “Manchete Esportiva”, uma semana depois da Copa, ele escreveu:
Vejam como tudo mudou. Eu pergunto: — o que éramos nós? Uns humildes. O brasileiro fazia-me lembrar aquele personagem de Dickens que vivia batendo no peito: — “Eu sou um humilde! Eu sou o sujeito mais humilde do mundo!”. Vivia desfraldando essa humildade e a esfregando na cara de todo mundo. E se alguém punha em dúvida a humildade, eis o Fulano esbravejante e querendo partir caras. Assim era o brasileiro. Servil com a namorada, com a mulher, com os credores. Mal comparando, um são Francisco de Assis, de camisola e alpercatas. Mas vem a deslumbrante vitória do escrete e o brasileiro já trata a namorada, a mulher, os credores, de outra maneira, reage diante do mundo com um potente, um irresistível élan vital. E vou mais além: — diziam de nós que éramos a flor de três raças tristes. A partir do título mundial, começamos a achar que a nossa tristeza é uma piada fracassada. Afirmava-se também que éramos feios. Mentira! Ou, pelo menos, o triunfo embelezou-nos. Na pior das hipóteses, somos uns ex-buchos.
- 1958 - O SANGUE EM FLOR
Dercy Gonçalves botou a cabeça entre as cortinas do Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e gritou para a platéia que reclamava do atraso:
“Já vai, porra!!!”
A platéia riu. Aquela era a Dercy. E era uma platéia de personagens da coluna de Tavares de Miranda. Léo Júsi, o diretor da peça, ficara espantado ao ver aqueles industriais, banqueiros e grã-finos desembarcando no teatro. Havia dois ou três “Rolls-Royces” estacionados na porta. Por menos que ele acreditasse, era a platéia habitual das estréias de Dercy Gonçalves em São Paulo. Muitos tinham mandado de véspera seus choferes à bilheteria, para assegurar lugares na fila do gargarejo. Queriam ficar ao alcance dos jatos entre os dentes que a estrela esguichava na primeira fila. Era uma honra ser cuspido por Dercy.
Em 1958, Danilo Bastos, marido da comediante, controlava as duas salas do Teatro Cultura Artística. Na sala menor encenava os espetáculos sérios, como “Juventude sem dono” (“A hatful of rain”), de Michael Gazzo, dirigido por Flávio Rangel. Um tremendo drama sobre drogas. Na sala maior ficava Dercy, entregue a si e a seus “cacos” — não importava o que levasse, a casa encheria do mesmo jeito. Mas Dercy não estava satisfeita. Não se incomodava de ser tratada como um chinelo velho por Danilo como marido, mas exigia sua atenção como produtor. Queria provar que podia fazer mais do que chanchadas. Queria representar Nelson Rodrigues.
Quando Danilo Bastos procurou-o em nome de Dercy, Nelson não se fez de rogado: cedeu-lhe a amaldiçoada “Dorotéia”, a peça de que “nem sua mãe gostara”. Mas exigiu Léo Júsi como diretor, para controlar Dercy e tentar impedir que ela transformasse o seu texto numa sinfonia de “cacos”. Danilo Bastos aceitou. Que diferença faria, Léo Júsi, Alziro Zarur ou o marechal Lott, como diretor? — pensou. Dercy faria o que quisesse do mesmo jeito. Mas Léo Júsi combinou com Nelson um tipo de tratamento para “Dorotéia” que servisse a Dercy, para que ela não precisasse improvisar tanto. Algo divertido, mais na linha do “realismo fantástico”, menos comportado do que a concepção original de Ziembinski em 1950.
Nada comportado, aliás. Afinal, Dercy faria Dorotéia, a moça que quer se redimir — e só isso já seria uma contradição em termos. Das Dores, a frágil garota que morreu e não sabe, seria interpretada por Darcy Coria, miss Corinthians do ano anterior, uma fenomenal morena de 1,90m de altura, de fraldas e com um par de coxas inenarráveis. As botinas andariam pelo palco, movidas por cordões. Quando uma das solteironas morresse, seria içada por um gancho e guinchada para fora do palco. Outra desapareceria por um alçapão. As entradas em cena seriam por escorregas de playground. Nelson faria umas poucas alterações no texto, para descomplicá-lo, e mudariam o título.
“Vinde ensaboar vossos pecados” — “Dorotéia” em sua encarnação Dercy Gonçalves — estreou no Cultura Artística para uma platéia que sabia muito mais de Dercy do que de Nelson. Donde ninguém entendeu o que se estava passando no palco, mas ninguém estranhou. Dercy também não sabia muito bem a que vinha aquela história de jarros e botinas, mas respeitou o texto — durante os primeiros dias. Justamente num desses dias, Nelson tomou um trem e foi a São Paulo vê-la. Como ela se comportasse, ele riu muito e fez-lhe vastos elogios no camarim:
“Você é formidável, Dercy! É a nossa Sarah Bernhardt!”
E, como se esperava, assim que Nelson embarcou de volta para o Rio no dia seguinte, Dercy passou a rechear cada fala com um “caco”.
Nelson ficou sabendo e pediu a Léo Júsi para tentar dominá-la. Mas Dercy era indomável:
“O ‘caco’ faz parte do teatro”, mandou dizer.
Nelson apenas conformou-se:
“Ela não tem culpa. Toda grande estrela da geração de Dercy só sabe trabalhar assim. Se, ao final da temporada, sobrar uma palavra do meu texto, posso me sentir um Ibsen.”
Nelson não voltou para conferir. Mas, pelos relatos que ouvia, “Vinde ensaboar vossos pecados” ficava mais incompreensível a cada dia. Não que a platéia protestasse. Ao contrário: quanto mais Dercy e menos Nelson no espetáculo, mais o público gostava — e, sem que eles soubessem, mais “Dorotéia” deixava Beckett e Ionesco no chinelo em termos de “absurdo”.
Com um mês de casa cheia, Dercy fechou o espetáculo e estreou outro, como gostava de fazer. Quando seus próprios "cacos" começavam a ficar repetitivos, ela apenas trocava de peça.
Nelson não precisaria que sobrasse uma palavra daquele texto para sentir-se um Ibsen. Ele já se sentia um Ibsen. Pouco depois da Copa do Mundo, encontrou Millôr Fernandes e Paulo Mendes Campos e deu a cada um uma cópia de sua nova peça, “Os sete gatinhos”. Mas advertiu:
“Eu sei que vocês vão achar sensacional. E não me venham com pequenas restrições!”
Nelson nunca soube se Millôr tinha grandes ou pequenas restrições a “Os sete gatinhos”. Mas a opinião de Paulinho Mendes Campos saiu-lhe melhor do que a encomenda:
“Acho ‘Os sete gatinhos’ a melhor peça de Nelson Rodrigues e um dos trabalhos mais belos, mais fortes e mais impressionantes do teatro mundial contemporâneo”, ele escreveu.
Dito assim, parecia apenas uma “corbeille” de hipérboles, mas P. M. C. foi além. Contestou a velha tese de que o teatro é uma casa destelhada que se pode xeretar; nas peças de Nelson, segundo ele, o teatro podia ser a tal casa destelhada, mas com o espectador lá dentro, nu, “despido dos convencionalismos com que cobria suas próprias vergonhas”. E olhe que, na casa de “Os sete gatinhos”, morava uma família em que as quatro irmãs se deixavam prostituir pelo pai para que a caçula se casasse virgem. Enquanto isso, a mãe rabiscava, escondida, palavrões na parede do banheiro.
“Como se o autor quisesse dizer-nos”, escreveu P. M. C., “que, neste mundo corrompido pela hipocrisia, está se realizando o incrível e inelutável milagre: a puta transformada em vestal da virgindade. Em outras palavras, o mundo quer esquecer a força que o compele à pureza: só as putas são conscientes do valor da virgindade.” Para P. M. C., pouco se lhe dava que os conceitos de Nelson a respeito do bem e do mal lhe parecessem preconceitos: “O mundo perde sempre um pouco da sua potencialidade trágica quando um preconceito é destruído. Se admitirmos, por hipótese, um mundo mentalmente asséptico, varrido de todos os preconceitos, estejamos certos de que o drama e a tragédia desaparecerão dos palcos”.
Em 1958, no entanto, não havia ainda muitos indícios de que os preconceitos estivessem sendo varridos, exceto para baixo do tapete. Na estréia de “Os sete gatinhos”, em outubro daquele ano, Paschoal Carlos Magno saiu do teatro dizendo:
“É uma pena que esse autor, dos mais importantes do Brasil em todos os tempos, desperdice o seu talento com a imundície.”
E Paschoal fora amigo de Roberto Rodrigues, dava-se bem com Nelson, conheciam-se desde vidas passadas. Se o conhecia tão bem, por que reagia daquele jeito? Porque era uma besta, achava Nelson. A respeito de “Os sete gatinhos”, outro crítico acusou-o de “exploração ignominiosa e lucrativa de crimes torpes” e de “deleitar-se com a podridão”. Como acontecera na época de “Anjo negro”, voltaram a fazer estatísticas dos incestos, mortes violentas, suicídios, taras e, agora, do lesbianismo em suas peças. As vezes, parecia cômico a Nelson que ninguém enxergasse o óbvio. Foi o que ele disse no programa de televisão de Gilson Amado:
“Minhas peças são obras morais. Deveriam ser encenadas na escola primária e nos seminários.”
“Os sete gatinhos” era, nominalmente, uma produção de seu irmão Milton, mas o grosso do dinheiro saíra do bolso de Leonardo Bloch, um dos diretores de “Manchete”. E retornara com lucros porque, da estréia ao encerramento, quase três meses depois, o espetáculo teve lotação esgotada e foi aplaudido de pé — talvez pelo colorido “social” do texto. A família de “seu” Noronha (interpretado por Tece Valadão, de peruca branca) era da baixa classe média, morava numa rua pobre do Grajaú e ele se fazia passar por funcionário da Câmara dos Deputados quando na verdade era um humilde contínuo. Um dos momentos culminantes era quando uma de suas filhas o insultava:
“— Contínuo!”
Nelson não gostava de interpretações sociologizantes ou economicistas de suas peças. “Para mim, seja de que classe for, seja esquimó ou mandarim, o homem continua sendo o mesmo homem”, ele diria, anos depois. Mas, em 1958, não interessavam os motivos do sucesso — Nelson saboreou o triunfo de “Os sete gatinhos” como se ele fosse um bilhete premiado que achasse na rua. Aliás, ninguém ficou mais surpreso com esse triunfo do que ele:
“Parece ‘blague’, mas desta vez não me jogaram tomates.”
Era quase como se tivesse errado em alguma coisa. Mas Nelson não estava fazendo as pazes apenas com a platéia. Os melhores críticos, entre os quais Décio de Almeida Prado, eram quase sempre positivos a seu respeito. E verdade que Décio gostaria que ele não “fugisse tanto à norma”. Nelson achava graça. Para ele, “fugir à norma” deveria ser, ao contrário, uma virtude. Décio também fazia restrições ao que considerava de “mau gosto” em suas peças — como a cena de “A falecida”, em que o personagem está sentado “à maneira do ‘Pensador’ de Rodin”; alguém bate à porta e o sujeito responde: “Tem gente!”.
Passeando com Décio pela avenida Atlântica, numa das vezes em que o crítico veio ao Rio, Nelson defendeu-se:
“Mas, meu coração, ir ao banheiro é a coisa mais natural do mundo. Até você vai!”
Quando “Senhora dos afogados” e “A falecida” saíram em livro, Nelson mandou-lhe um exemplar com a dedicatória: “Para o querido Décio, essas duas peças do seu particular desagrado. Com a amizade do Nelson Rodrigues”.
O único crítico com quem Nelson manteria uma relação que faria jus à dedicatória que ele distribuía para todo mundo — “ao Fulano, amigo para além da vida e da morte” — seria Sábato Magaldi. Em 1952, Sábato partira para a França a fim de estudar estética, e Nelson fora levá-lo ao aeroporto do Galeão. Ao despedir-se, Nelson parecia preocupado, mas disse a Sábato: “Olha: Deus te abençoe”. Um ano depois, quando Sábato desembarcou de navio na praça Mauá, Nelson foi o único amigo que se abalou para recebê-lo. Mas não porque estivesse com saudades. A primeira coisa que perguntou, de olho rútilo e lábio trêmulo, foi:
“Você ainda gosta de ‘Vestido de noiva’? Ainda acha que eu sou bom?” Seu pavor era o de que, depois de um ano exposto ao melhor teatro francês e mundial, Sábato começasse a achá-lo um autor “menor”. Só se tranqüilizou quando este lhe garantiu que, com tudo que tinha visto, ele ainda era o maior. Mas os bate-papos diários entre ambos foram interrompidos porque Sábato apenas assinou o ponto no Rio em 1953 e mudou-se para São Paulo, onde iria lecionar na EAD (Escola de Arte Dramática). A partir daí, as conversas entre os dois seriam por telefone, quando Sábato tomava a iniciativa — porque, para Nelson, um telefonema interurbano era um desses luxos insustentáveis. Motivo pelo qual seu coração ganhava uma consistência de pudim quando Sábato ligava de São Paulo e ficavam quarenta minutos conversando.
Anos depois Nelson descobriu um jeito de ligar diariamente para Sábato, e de graça: através de um amigo comum, o também mineiro Wilson Figueiredo, poeta e chefe de redação do “Jornal do Brasil”. Nelson conhecera Wilson na “Manchete” em 1955 e se espantara com a sua capacidade de ruborizar-se.
"É o último homem no Brasil que ainda se ruboriza!“, proclamava Nelson pelos corredores da rua Frei Caneca.
Ao ouvir isso, Wilson ficava pink como um flamingo e se ressentia da brincadeira. Apesar das orelhas em fogo, não se achava um tímido. Só agora, no “Jornal do Brasil” — onde Nelson ia visitá-lo todo dia, para vê-lo e para filar seu telefone —, Wilson compreendia que aquela era uma característica de Nelson: a capacidade de captar, de primeira, algo que definisse uma pessoa. Seu colega Carlos Lemos, por exemplo, era o “extrovertido ululante”, pela mania de falar alto em bondes. Paulinho Mendes Campos tinha o “perfil de Napoleão aos dezessete anos”; Antônio Callado era “o único inglês da vida real”, pela fleuma que já demonstrava antes mesmo de ir morar em Londres; Caminhos de Oliveira era uma “cambaxirra”, a quem ele tinha vontade de “oferecer alpiste na palma da mão”. E de Gustavo Corção, Nelson dizia: “Aposto que ele ainda usa urinol”.
Juscelino, para Nelson, era o “cafajeste dionisíaco”. Considerava uma qualidade presidencial essa cafajestice “da cartola aos sapatos”, principalmente depois do funéreo Dutra, do trágico Getúlio e do aguado Café Filho. Nelson votara em Juscelino contra o general Juarez Távora, rompendo sua fidelidade à UDN, e não se arrependera. Quando lhe contaram que Juscelino, ao passar por uma quilométrica fila de açougue, perguntou qual filme estavam levando, Nelson empolgou-se:
“Um presidente que confunde a fila da carne com a fila do ‘Metro’! É o gênio, compreendeu? O preço da carne é um detalhe e o gênio passa por cima do detalhe!”
Em 1958, Nelson deixou os escrúpulos em casa e foi ao Catete pedir um emprego público a Juscelino.
“Escritores ganham mal, presidente”, disse.
Juscelino podia não estar em condições de dar conferências sobre o teatro de Nelson, mas era grande admirador de Mário Filho. Na abertura dos “Jogos da primavera” de 1956, ficara tão empolgado na tribuna de honra de São Januário que mandara um ajudante-de-ordens correndo ao Palácio Laranjeiras buscar sua mãe, dona Júlia. Ela não podia perder aquele “show”. E, desde então, dona Júlia não faltava a uma abertura dos “Jogos”. Nem ele.
Para Juscelino, a maneira mais simples de atender ao pedido de Nelson era dar-lhe um cartório. Não que o Brasil estivesse carente de cartórios — porque, afinal, ele os distribuía a três por dois. Um funcionário alertou-o de que tabeliães precisavam ter curso superior. Doutor Nelson teria, pois não? Não, confessou Nelson, deixara os estudos no terceiro ano do ginásio. Juscelino então propôs-lhe uma vaga de tesoureiro do IAPETEC (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes de Carga).
Nelson achou ótimo, embora não pudesse ser tesoureiro nem de suas próprias finanças. Mas o IAIPETEC era uma potência, funcionava sozinho. Se, um dia, ninguém aparecesse para trabalhar, funcionaria do mesmo jeito. Dessa vez Nelson não temeu exibir as cavernas pulmonares nos exames médicos. Sabia que elas estavam 0K. Acabou reprovado — por mal dos pecados, no exame de vista.
O jeito foi pedir a vaga para Elza. Para Juscelino, tanto fazia. Agradaria do mesmo jeito ao irmão de Mário Filho. Elza passou em todos os exames e se tornou funcionária pública, nível “ó de penacho” — uma categoria não reconhecida oficialmente, mas que previa uma gratificação extra, acima da “letr a mais alta do funcionalismo. Daí o penacho.
Foi melhor assim. Nelson Rodrigues tabelião ou tesoureiro de um órgão público parecia uma idéia tão esdrúxula quanto “Suzana Flag” cercada por uma ninhada de filhos e com o avental sujo de ovo.
Ou não. Os gostos e desgostos de Nelson eram simples, quase medianos, não muito diferentes dos de qualquer “barnabé”, como se chamavam os funcionários públicos menos graduados. Em janeiro de 1956, Nelson respondeu à seção “Arquivos implacáveis” de João Condé, em “O Cruzeiro”, sobre o de que gostava e não gostava. Na coluna “gosto”, escreveu:
- Minhas peças.
- Cigarro ordinário.
- Música barata.
- Criança desdentada.
- Fluminense.
- Filme de diligência.
- Mulher bonita e burra.
- Dramalhão.
- Visitar cemitério.
- Estar só.
Na coluna “detesto”, suas respostas foram:
- Luar.
- Chicória.
- Cumprimento.
- Varizes.
- Teatro dos outros.
- Samba.
- Trabalho.
- Psicanalista.
- Sujeito inteligente.
- Qualquer político.
Nas três últimas afirmações sobre o que detestava, Nelson estava apenas fazendo “charme". Não tinha a menor paciência com gente burra — escolhia os amigos pela inteligência e um dos que ele mais prezava, Hélio Pellegrino, era psicanalista. Quanto aos políticos, era fã de Juscelino e não detestava nem Carlos Lacerda. O que sentia pela maioria dos políticos era um vago desprezo — quando se lembrava deles. E, na outra coluna, ao dizer que gostava de ir ao cemitério, não especificou que era para visitar seu irmão Joffre, o que fazia quase todo ano. Mas quem leu aquela referência ao cemitério acrescentou mais um dado à sua convicção de que Nelson Rodrigues devia ter realmente alguma tara.
Com toda a aura satânica que o público lhe atribuía, Nelson era difícil de ser superado como animal doméstico — burocraticamente doméstico — e, mesmo assim, inepto em detalhes. Se Elza não lhe pusesse as meias em cima da cama ou não lhe abotoasse os suspensórios, sairia descalço ou com as calças caindo pela rua. Seu café da manhã era um cafezinho e uma banana. Ia cedo, de bonde ou lotação, para o jornal ou revista e, se se transformava num lobisomem, só podia ser à tarde — porque voltava à noite para casa com a docilidade de uma ovelha.
Chegava por volta de nove ou nove e meia, com o bombom de Elza e o embrulho de manteiga dependurado no dedo mínimo. Sentava-se para comer a papinha da úlcera e muitas vezes acordava Nelsinho para juntar-se a eles. Era de uma humildade tibetana: servia-se das travessas a uma colher de cada vez. Nunca enchia o prato. Comia devagar, acompanhando a garfada com um pedaço de pão com manteiga. Mastigava meticulosamente, como se a úlcera tivesse um sono leve, que qualquer bocado mais rijo pudesse despertar. Tomava uma gelatina de sobremesa (mantinha estoques na despensa), contava uma história engraçada da redação e punha discos de ópera. Os outros iam dormir e ele abria a “Remington”. Enfiava duas laudas com carbono no rolo e escrevia até quase dormir sobre a máquina.
Não interferia na economia doméstica, nem acompanhava os boletins escolares dos filhos. Só se meteu uma vez, quando Joffre ficou em segunda época de desenho e francês, no quarto ano de ginásio, em 1952. O colégio era o São José, na Tijuca, e o professor das duas matérias era padre Fidélis. Para a prova de francês, Joffre tomou umas aulas com Albert Laurence, colega de Nelson em “Última Hora” e francês de verdade, marselhês de quatro costados. Joffre foi fazer a prova, confiante no exame oral. Mas padre Fidélis fulminou-o de saída:
“Prova oral não interessa!” E reprovou-o por uma fração.
Nelson bufou como um dragão ao saber disso. Como não interessa a prova oral num exame de línguas? Foi pessoalmente ao São José. Tentou demover padre Fidélis, mas este não recuou de sua decisão. Nelson olhou-o de alto a baixo, cada botão da batina, e comentou:
“O senhor não merece a batina que veste!”
Nos fins de semana, passava a maior parte do tempo de pijama. Aos domingos pela manhã, ouvia o programa de operetas da rádio Nacional sob o patrocínio de “Januário Ferragens”. À tarde, Nelson tornava o profano sagrado e ia ao Maracanã como outros iam à missa. Distinguia cada vez menos o que se passava em campo, mas não perdia um jogo, mesmo que não fosse do Fluminense. Pegava Joffre e Nelsinho pela mão e iam a pé do Andaraí para o estádio, pela Maxwell. No caminho, na ida ou na volta, passavam pela rua Alegre e Nelson lhes falava de sua infância.
Para sua perplexidade, Joffre não se tornara Fluminense, mas Flamengo. Nelson o levara pela primeira vez a um jogo — Fluminense x Olaria, em Bariri — apenas para sacramentar a paixão tricolor do filho, que já lhe parecia liquida e certa. Comprara-lhe uma flâmula do Fluminense, de lá, como eram as flâmulas nos anos 40, e sentaram-se para esperar os gols de Orlando e os chutões de Pé de Valsa. Mas o Fluminense desapontou miseravelmente. O jogo terminou 1 x 1 e Joffre sentiu-se sem jeito com aquele pano colorido na mão. Poucas semanas depois foram ver Flamengo x São Cristóvão na Gávea. O Flamengo ganhou de 7 x 1, com um ponta rubro-negro quase careca chamado Esquerdinha fazendo misérias. Joffre tornou-se Flamengo. Nelson ficou besta, mas nunca tentou fazê-lo mudar de idéia. Só faltava agora que Nelsinho — que ele chamava de “torpinho” — imitasse o irmão mais velho e também virasse Flamengo. Mas Nelsinho tornou-se até mais tricolor do que o pai. E Elza, que era Flamengo, também se converteu.
Antes do dinheiro da indenização de “Crítica”, em 1956, os dois garotos tiveram uma infância modesta, porém decente. Estudaram em bons colégios da Tijuca, mas suas semanadas nunca lhes permitiram esbaldar-se nos prazeres da época, como bolas de couro, guaraná “Caçula” ou figurinhas da bala “Ruth”. E, quando o dinheiro de “Crítica” saiu e Nelson desapertou-se por uns tempos, esses prazeres já tinham ficado para trás.
Em 1957, Nelson respondeu a uma enquete de “Manchete” a respeito da “mulher ideal”. Suas respostas, por mais sarcásticas, talvez digam mais sobre ele no dia-a-dia do que qualquer descrição:
Que tipo de mulher prefere? “A leitora de ‘Grande Hotel’ [uma revista de fotonovelas].”
O que nota numa mulher à primeira vista? “A alma.”
Qual a linha da moda feminina que mais aprecia? “Não acredito em moda.” Que pensa dos perfumes na mulher? “Prefiro o cheiro especifico, nato, que cada mulher tem.”
Qual a importância do físico numa mulher? “Não me ocorre nenhuma vontade interessante.”
Qual a qualidade que mais aprecia numa mulher? “A ignorância.”
Qual o defeito que mais condena nela? “Qualquer veleidade intelectual.”
Tem necessidade de uma mulher ao seu lado? “Sim.”
Acredita na diferença intelectual entre os sexos? “A mulher nunca precisa de inteligência.”
Nos seus bate-papos diários depois do trabalho, prefere a presença dos homens ou das mulheres? “Acho o homem extremamente desagradável.”
Qual a fase que mais aprecia nas relações com a mulher: namorada, noiva, amiguinha ou “caso”? “Sou admirador da namorada.”
Considera que a mulher tem de ser uma boa dona-de-casa? “Considero que a mulher só tem de ser dona-de-casa.”
Acha que numa mulher não se deve bater nem com uma rosa? “Questão de gosto.” Esqueça a tolice das perguntas. Todos os entrevistados na enquete (Di Cavalcanti, Ibrahim Sued, o arquiteto e pintor Flávio de Carvalho, o cantor Francisco Carlos, o ator Maurício Barroso, o colunista José Álvaro e outros) tentaram fazer média com um novo tipo de mulher independente que começava a aparecer. Menos Nelson. Exceto na última pergunta, quando — também ao contrário de Nelson, que foi ambíguo — vários disseram explicitamente que se devia bater, sim.
Nelson teve um acesso de tosse naquela madrugada de 22 de novembro de 1958 e acordou ensopado no próprio sangue. Os pontos da cirurgia tinham estourado. Elza, ao seu lado, acendeu o abajur do criado-mudo: um chafariz vermelho esguichava através do paletó do pijama de Nelson.
Três dias antes, um sábado, ele tivera a vesícula extraída na casa de saúde Santa Luzia, na avenida Mem de Sá, na Lapa. A casa de saúde estava longe de ser um dos centros mais sofisticados da medicina mundial, mas era onde operava o seu médico, doutor Hugo Cotta dos Santos, um velho amigo. No dia seguinte à operação, domingo, incendiado por uma febre invencível, Nelson vomitou uma secreção preta. Ficou muito assustado. Doutor Hugo tentou tranqüilizá-lo, era uma reação normal daquele tipo de pós-operatório. Mas Nelson não queria acreditar. Julgou-se no umbral da morte, o médico é que estava mal informado. Perguntou se podia fumar.
Para sua surpresa, doutor Hugo respondeu:
“Não devia, mas, se você estiver com muita vontade, um cigarrinho só, eu deixo.”
Nelson diria depois a Elza que, naquele momento, teve a certeza da morte. Se o médico o deixava fumar, é porque ele estava nas últimas.
Elza pôs um “Caporal amarelinho” nos lábios de Nelson e acendeu-o. Na primeira tragada, que não houve, Nelson cuspiu tossindo o cigarro. Não conseguia engolir a fumaça — como doutor Hugo sabia que iria acontecer, e só por isso lhe permitira acender o cigarro.
Mas doutor Hugo não conseguiu resistir à insistência de Nelson para sair do hospital e convalescer em casa. Na segunda-feira teve de deixá-lo ir, com febre e tudo. Nelson foi transportado no “De Soto” e subiu a pé, e não de maca, os quase vinte degraus que levavam ao segundo andar de sua casa na rua Agostinho Menezes. Meteu-se na cama e, na madrugada seguinte, teve uma inchação intestinal que lhe provocou o acesso de tosse. Os pontos da parede abdominal se romperam e o sangue jorrou através da incisão. Junto com o sangue, viria o resto.
Estava sozinho com Elza, Joffre e Nelsinho, sem uma enfermeira para assisti-lo. Joffre correu para o telefone e ligou para a casa de doutor Hugo, na Gávea. Doutor Hugo mandou que comprimissem com a mão o local de onde aflorava o sangue. Enquanto isso acionaria o Pronto Socorro com um médico de sua confiança. E ele também estaria a caminho.
A ambulância do Pronto Socorro cantou pneus pelas ruas escuras e fez o percurso entre a praça da República e o Andaraí em minutos. Foi o que salvou Nelson. Quando o doutor José Afonso, chefe de serviço do Pronto Socorro, entrou em seu quarto, Nelson começava a sofrer uma eventração — seus intestinos estavam saindo pelos pontos rompidos, como Medusa pondo a cabeça para fora. Doutor José Afonso entrou em ação e, daí a pouco, doutor Hugo também chegou. Devolveram as tripas ao seu lugar, aproximaram as bordas da incisão e aplicaram uma cinta de esparadrapo. Horas depois, puderam submete-lo à primeira das muitas transfusões.
Nelson recuperou-se do susto — mais um —, mas recusou-se a voltar para a casa de saúde. Doutor Hugo novamente teve de concordar. Nunca vira paciente mais teimoso. Mas Nelson não poderia ficar naquele quarto, impraticável para se trabalhar numa emergência. O médico examinou a casa e optou pela sala, no primeiro andar. Desceram-no na maca, trouxeram a cama e o instalaram ali. Não é que isso pareça um absurdo hoje. Era um absurdo na época e os médicos sabiam disso, mas só à força, amarrado, Nelson seria levado para a casa de saúde — o que eles não quiseram fazer. E então Nelson começou ali uma provação de quase três meses.
A incisão cicatrizou, mas ele continuava com a febre alta e persistente, cuja origem ninguém conseguia identificar. Outros médicos foram chamados para examiná-lo, mas ninguém quis fazer um diagnóstico definitivo. Devido ao seu histórico, pensou-se numa recidiva da tuberculose. Mas essa hipótese foi afastada, porque a febre variava a níveis de placar de basquete americano — entre 39 e quarenta graus. Outra hipótese nesses casos é a de câncer. Durante uma semana, Nelson “teve” câncer. A vizinhança foi vê-lo como se cada visita fosse uma despedida. Até em “Última Hora” acreditou-se nisso.
Alguns parentes recorreram ao espiritismo. Chamou-se o “vidente” Pedro Fumagali, guru de Elsinha, irmã de Nelson. Pedro Fumagali queria fazê-lo beber uma poção de ervas misteriosas, mas doutor Hugo não permitiu. Dispensava a ajuda do Além — o Aquém daria conta do recado. Consentiu apenas nas rezas. Descobriu-se também que Nelson era cardíaco.
Mas mesmo o exame mais simples era complicado na balbúrdia que cercava aquele tratamento. Durante o dia, o “quarto” de Nelson tinha às vezes uma platéia de Fla-Flu. Era um entra-e-sai de irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos e gente que nunca o tinha visto mais magro e abatido. Quando ele tinha de tomar banho ou fazer cocô, as visitas saiam para a calçada e Elza instalava a bacia ou a comadre. Era ajudada por sua mãe e pela empregada. Assim que Nelson estava recomposto, a sala se enchia de novo. Essa multidão tomava cafezinho, alguns lanchavam, outros almoçavam e jantavam. A empregada de Elza pediu demissão.
Poucos amigos foram ver Nelson. Um deles foi Paschoal Carlos Magno, que, recentemente, o atacara por “Os sete gatinhos”. Nelson recebeu-o comovido.
Nas raras vezes em que se via sem ninguém, Nelson chamava sua sogra:
“Dona Concetta, fique comigo. Venha me ouvir gemer.
A noite, Nelson dormia mal, por causa da febre. Queria ter os pés sobre o colo de Elza, porque tinha medo de morrer sozinho.
No começo de março, a febre passou por si. O pesadelo acabara. Hoje sabe-se que ele saíra do hospital com uma infecção urinária, provocada por um germe resistente, e que o seu próprio organismo encarregara-se de combater.
Sua coluna em “Manchete Esportiva” ficou interrompida de novembro de 1958 a março de 1959, em plena decisão do campeonato carioca, uma das mais caprichosas de todos os tempos: Vasco, Flamengo e Botafogo haviam terminado teimosamente empatados e tiveram de ir para turnos e returnos extras entre eles, até que o Vasco foi finalmente campeão. Super-supercampeão, como o chamaram. Pois esses caprichos precisavam de um Nelson para narrá-los — e ele estava de cama, com quarenta graus de febre, prosaicamente lutando pela vida.
Em compensação, “A vida como ela é...” continuara saindo em “Última Hora” sem faltar um dia, como se Nelson fosse a maior saúde do Brasil. Colunas antigas foram reprisadas durante os mais de dois meses em que ele esteve fora, até Nelson descobrir que estava sendo descontado. Mas o que o amargurava era que Samuel Wainer não ia visitá-lo. Samuel estava nos Estados Unidos nos dias da operação. Mas voltara em duas semanas, mais do que a tempo de ir vê-lo ou pelo menos telefonar. Por que não fizera isso? Nelson lembrou-se de uma frase que Samuel teria dito a Ib Teixeira e Edmar Morel:
“Não tenho amigos, tenho interesses.”
Como se podia ser tão frio? — Nelson perguntava aos amigos e parentes. Quando voltou a trabalhar, na primeira semana de março de 1959, foi queixar-se a Samuel:
“Você nem quis saber se eu estava vivo ou morto.”
“Mas eu não sabia que você estava doente, Nelson”, defendeu-se Samuel.
Nelson abriu os braços:
“Isso é de um cinismo atroz. Vai me dizer que não lê o seu próprio jornal?”
“Última Hora” fizera duas matérias sobre Nelson naquele período. A primeira, logo nos primeiros dias, falava da cirurgia e do seu “abraço na morte”. A segunda, algumas semanas depois, quando ele já estava melhor. Desta segunda vez, Pinheiro Jr., repórter do jornal, fora entrevistá-lo e Nelson o recebera na varanda.
Entre perguntas simpáticas sobre seu estado, Pinheiro Jr., com a maior delicadeza, quis saber:
“Nelson, supondo que você tivesse de dizer suas últimas palavras, quais teriam sido?”
Não se sabe se Nelson achou aquilo uma piada de necrotério; se quis provocar a redação de “Última Hora”, que certamente encomendara a pergunta; ou se teve outro motivo. Mas ficou sério e disse:
“Você promete que publica?”
O repórter fez que sim e molhou o lápis na ponta da língua. E Nelson, ardendo em febre:
“Então anota: ‘Que besta graduada era o Carlos Marx!’.”
Pinheiro Jr. anotou — e, surpreendentemente, a frase de Nelson ultrapassou incólume as brigadas marxistas de “Última Hora” e saiu no dia seguinte, 12 de dezembro de 1958.
- 1959 - O REMADOR DE “BEN-HUR”
Nelson estava no ônibus, a caminho da casa de sua mãe no Parque Guinle, quando ao lado, no sinal, encostou uma banheira preta da presidência da República. Nelson viu pela janela o militar fardado no banco de trás, com o peito cravejado de medalhas, como um oficial prussiano. Só faltava a espada de ouro que lhe iriam oferecer. Era o marechal Henrique Duffles Teixeira Lott, futuro candidato da coligação PSD-PTB à sucessão de Juscelino no ano seguinte, um cidadão que os seus próprios adversários classificavam como “um monstro de honradez”.
Lott estava lendo a “Última Hora”. Mais precisamente, o novo folhetim de Nelson, “Asfalto selvagem”.
Nenhum desdouro nisso — porque toda a cidade estava lendo “Asfalto selvagem”. O impressionante era que nem o “monstro de honradez”, que todos imaginavam um homem dedicado exclusivamente à defesa da legalidade, do petróleo nacional e da educação moral e cívica, nem ele escapasse ao visgo daquele folhetim delirante de Nelson Rodrigues — o primeiro que Nelson assinava com o seu nome e em que estrelava o personagem mais erótico da literatura brasileira: Engraçadinha, linda e amoral como um bichinho de avenca.
Durante seis meses, de agosto de 1959 a fevereiro de 1960, centenas de milhares de leitores acompanharam a saga de Engraçadinha e de sua família — desde as origens, no Espírito Santo, até a grande tragédia que a obrigaria a mudar-se para o Rio, onde, vinte anos depois, esperava-a uma série inteira de pequenas tragédias. Mesmo para quem estava habituado às ousadias de Nelson em “A vida como ela é...”, “Asfalto selvagem” era chocante:
“Como é que deixam?!”, perguntavam-se muitos, resfolegando sobre o seu capítulo diário.
E não era porque, em seus 112 capítulos, “Asfalto selvagem” contivesse três defloramentos, uma mutilação genital, dois suicídios, uma curra, um assassinato, agressões lésbicas, dois exames ginecológicos, incontáveis adultérios e uma cena lindíssima de sexo debaixo de chuva torrencial — tudo isso num jornal diário, ao lado dos horóscopos e das receitas de pavê. O ministro da Justiça de Juscelino nessa época, e que se revelava tão esplendidamente arejado e liberal, chamava-se Armando Falcão — aquele que, na mesma função, mas sob os militares, iria proibir até o balé “Bolshoi”.
“Asfalto selvagem” não foi incomodado, mesmo porque aquelas coisas eram a oração matinal das páginas policiais. O que tornava “Asfalto selvagem” tão diferente (e mais “forte”) do que “A vida como ela é...” era que, nele, ao ouvir a voz interior de seus personagens, reconhecíamos a nossa própria voz.
Em “A vida como ela é...”, até por uma questão de formato (uma história completa e acabada por dia), Nelson precisava ser sucinto e limitar-se a descrever a movimentação física dos personagens. Já “Asfalto selvagem” tinha o espaço de um romance — aliás, era um romance, em duas longas partes. Neste, Nelson podia vasculhar à vontade a cabeça dos personagens, ir buscar as imagens e fantasias que eles escondiam deles mesmos e expor as mazelas intimas até dos mais virtuosos. (Principalmente destes.) E podia estender-se também em comentários sobre a época, o lugar e a condição humana, através da sua visão particularíssima do mundo. Por aí pode-se fazer uma idéia do amplo território coberto por “Asfalto selvagem”. Não seria uma heresia afirmar que, mais até do que o teatro, o veículo ideal para Nelson era o romance.
A primeira parte da história passa-se em Vitória, por volta de 1940. Engraçadinha surge aos dezoito anos completos, mas Nelson informa que, desde os treze, ela já tinha um corpo de mulher, a boca de beijos, o instinto animal. E noiva por conveniência de um sujeito apagado chamado Zózimo e, ao mesmo tempo, apaixonada por Sílvio, seu primo. Mas Silvio também está noivo, de Letícia, outra prima. Todos desejam Engraçadinha: Zózimo, Silvio, Letícia. Até aí, nada muito diferente dos fechados rocamboles amorosos de “Suzana Flag”. Mas, assim como acontecera com o seu teatro a partir de “A falecida”, Nelson abriu a narrativa em “Asfalto selvagem”: situou-a num espaço e tempo definidos, com situações do cotidiano, personagens reais (de Hitler a Benedito Valadares) e um hilariante elenco de padres hipócritas, médicos canalhas e tias velhas e lelés.
Engraçadinha não pode amar Silvio porque ele é, na verdade, seu irmão, produto de um “faux pas” de seu pai com a cunhada. Ao descobrir que é ir-mão, não primo, Silvio decepa seu próprio pênis com uma navalha — não sem antes deixar Engraçadinha grávida. Ao ver a derrocada moral de sua família, doutor Arnaldo, pai de Engraçadinha, mata-se com um tiro na cabeça. Destruída sua família, Engraçadinha casa-se com Zózimo e se muda para o Rio, levando o filho de Silvio no ventre. Termina a primeira parte de “Asfalto selvagem”.
Muitas peripécias desta primeira parte soam como ecos do passado profundo de Nelson. A lenta agonia de Silvio no hospital lembra a de seu irmão Roberto. O pai morre por causa do filho, assim como Mário Rodrigues morrera por causa de Roberto. Só que doutor Arnaldo não morre de “desgosto”, mas se mata com um tiro na cabeça. E, após a morte do pai de Engraçadinha, a família perde a sua espinha dorsal, como acontecera com a família de Nelson depois da morte de Mário Rodrigues. Com as modificações exigidas pela ficção, era a mesma história em linhas gerais. E era cruel, mas irônico: Nelson, que vira os Rodrigues protagonizando as situações de folhetim que ele tanto gostava de ler em criança, traduzia agora a sua própria experiência de vida nesse gênero de literatura.
Para construir o fascinante personagem de doutor Arnaldo — advogado, orador e político capixaba com todo o perfil da “reserva moral” —, Nelson usou um compósito de pessoas. Doutor Arnaldo era Mário Rodrigues, na sua insistência neurótica em parecer “um homem de bem”. Era também o próprio Nelson, mais do que nunca consciente dos abismos internos de todo ser humano. E era Getúlio Vargas, ao matar-se para imacular a comunidade (no caso, sua família) do atoleiro para o qual, sem querer, a arrastara. Evidente que o leitor não precisava saber disso para apaixonar-se pela trama de “Asfalto selvagem”. E quem poderia reconhecer certos detalhes, exceto os mais chegados a Nelson?
Nelson terminou a história de Engraçadinha adolescente e deu início imediatamente à segunda parte — passada no Rio daquele próprio ano de 1959, com um tom palpitante de atualidade. A ligação entre as duas partes era feita pelo doutor Odorico Quintela, um jovem advogado de Vitória que discursara no enterro de doutor Arnaldo e agora, vinte anos depois, era juiz de direito no Rio. Durante aquele seu remoto discurso no cemitério, ele não conseguira tirar os olhos de Engraçadinha com o vestido colado ao corpo pela chuva que caía no enterro. Momentos houve em que doutor Odorico temeu misturar o discurso em que exaltava as virtudes do morto ilustre com as infâmias que lhe estavam passando pela cabeça. Teve medo de dizer em voz alta, diante dos túmulos:
“Meus senhores e minhas senhoras! Não é nada disso! O que interessa são os peitinhos da nossa Engraçadinha! Amigos, orai por esses dois seios pequeninos!”
Quando a história recomeça, no Rio, doutor Odorico (agora um senhor distinto, de chapéu e bigodes, misto de Epitácio Pessoa com Adolph Menjou) esbarra na esquina de Rio Branco e Ouvidor com uma colegial — “Ela teria o quê? Digamos uns quinze, dezesseis (ou catorze)” — que é a própria Engraçadinha rediviva. Sem tirar nem pôr: a mesma boca sensual, os mesmos seios pequeninos, os mesmos quadris frementes. Conversa com ela e descobre que é Silene, filha de Engraçadinha. “Deus está nas coincidências”, pensa doutor Odorico. (Outras vezes chega a assumir que é o diabo que está por trás das coincidências.) Nunca mais vira Engraçadinha, nem sabia que ela se mudara para o Rio. E agora descobria que a desejara durante todos aqueles anos.
Mudara-se para o Rio era maneira de dizer. Engraçadinha morava (com Zózimo) em Vaz Lobo, um subúrbio fora do planeta, e os dois viviam em digna pobreza com os cinco filhos: Durval (filho de Silvio, que Zózimo assumira) e as quatro moças, das quais Silene era a caçula. Doutor Odorico viu aí a sua chance de consumar a antiga paixão por Engraçadinha — nem que tivesse de usar sua influência, suas amizades com jornalistas e sua carteirinha do Poder Judiciário. Mas a sofrida Engraçadinha, que continuava a ser uma mulher belíssima (lembrava a Vivien Leigh de “...E o vento levou”), enterrara toda a sua volúpia na religião. Era agora protestante convicta. Nem com Zózimo fazia sexo — quer dizer, ele fazia com ela, mas ela não. Esquecera-se de si mesma e sua única preocupação era evitar que Silene saísse a ela no passado: o desejo personificado. O que, naturalmente, não conseguirá. Silene tem um namorado, Leleco, que irá matar por causa da menina e cair nas garras de um repórter sem escrúpulos (Amado Ribeiro, de “Última Hora”). Doutor Odorico tentará ajudar Silene e Leleco, mas só para ter Engraçadinha. E ela, ao final, perderá seus pudores, mas não por ele.
Enquanto a história se passa, o Rio está assistindo ao filme de Louis Malle, “Les amants”, em que Jeanne Moreau e Jean-Marc Bory supostamente praticam um “fellatio”, imperceptível aos olhos de hoje, mas que, na época, era um deus-nos-acuda. O filme é um “background” para toda a ação: os que mais o condenam são os que mais querem vê-lo, desde que ninguém fique sabendo. Doutor Odorico é um deles. Na porta do “Pathé”, na Cinelândia, ao ter o braço travado por uma conhecida gorda e patusca que vocifera hipocritamente contra “Les amants”, doutor Odorico tem um momento de lucidez:
“— Os culpados somos nós! Esse filme, quando estreou, era tão inocente, tão puro! Nós é que corrompemos o filme, nós! E, agora, o filme não é o mesmo: — está degradado pela platéia! Qualquer dia a senhora há de ver os artistas improvisarem ‘cacos’, piadas obscenas. Passar bem, minha senhora!”
quase uma receita de Nelson sobre como deveriam enxergar a sua obra. Se a primeira parte de “Asfalto selvagem” já era impressionante, a segunda era sensacional, porque Nelson misturava os personagens da ficção com figurantes de carne e osso — a maioria jornalistas seus amigos, que apareciam no folhetim com os seus próprios nomes e, às vezes, nas piores situações: Otto
Lara Resende, Wilson Figueiredo, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Carlinhos de Oliveira, Hermano Alves, Ib Teixeira, Raimundo Pessoa, Amado Ribeiro, o fotógrafo Paulo Reis, o crítico musical Eurico Nogueira França, inúmeros outros. Não se sabe como alguns deles não se irritaram com Nelson. O caso de Amado Ribeiro é o mais incrível: aos 27 anos em 1959, ele era exposto em “Asfalto selvagem” como o repórter policial mais cafajeste da face da Terra, capaz de achacar suspeitos, inventar culpados, chantagear a mulher da vítima e o diabo a quatro, tudo para vender jornal. Não que Amado Ribeiro não fosse parecido com aquilo na vida real, mas Nelson não teria exagerado?
“Não, eu sou pior!”, gabava-se Amado Ribeiro.
O futuro historiador da música popular, José Ramos Tinhorão, então “copydesk” do “Jornal do Brasil”, era mostrado como um jovem sátiro a bordo de um calhambeque e mantendo um caderninho onde anotava os nomes de suas conquistas — a maioria das quais iludia com a promessa de que Accioly Neto mandaria fotografá-las para a capa de “O Cruzeiro”. O articulista político Hermano Alves aparecia assinando uma coluna no “Jornal do Brasil” a que qualquer desconhecido tinha acesso para “plantar” uma nota contra terceiros. Um soneto erótico de Otto Lara Resende era usado por doutor Odorico como aríete para vencer a resistência de Engraçadinha. E o rubor de Wilson Figueiredo era evocado publicamente, mas como pretexto para Nelson descarregar sua antipatia por Gustavo Corção:
“— O simples rubor da face é uma indicação de sentimentos elevados”, dizia doutor Odorico a folhas tantas. “— Já o Corção é um pálido. E não escreve uma virgula sem uma vaidade de prima-dona decotada!”
Alceu Amoroso Lima, em contrapartida, era comparativamente bem tratado. Numa passagem, doutor Odorico dizia para Engraçadinha:
“— O Tristão de Athayde. É um sábio católico. Sujeito de bem, ouviu? De bem! Pois o Tristão disse que se tirassem do homem a Vida Eterna — o homem cairia de quatro, imediatamente!”
Mas, em seguida, doutor Odorico fica na dúvida: “— Foi mesmo o Tristão que disse isso?”. Para piorar, Nelson dava ao ginecologista praticante de abortos o nome de doutor Alceu, como Tristão era mais conhecido. Outro atrevimento de Nelson em “Asfalto selvagem” foi batizar de doutora Bruma uma médica “de nádegas maciças e grande sensibilidade nos seios”, citada quase no começo da história. O nome Bruma, não muito comum no Brasil, era o da primeira mulher de Samuel Wainer, agora casado com Danuza Leão. Mas Samuel não disse nada.
As pequenas maldades de Nelson proliferam em “Asfalto selvagem”. Dois figurantes conversam numa sala onde se encontra doutor Odorico. Um deles cita o famoso conselho de Guimarães Rosa aos jovens escritores: “— Não façam biscoitos, façam pirâmides!”. E fulmina: “— Mas o que é a obra de Guimarães Rosa senão uma pirâmide de confeitaria?”.
Juscelino, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juraci Magalhães, Israel Pinheiro, Lourival Fontes, Sobral Pinto, Gilberto Amado, Neiva Moreira, Almino Affonso, Augusto Frederico Schmidt, Abraão Medina (dono das lojas “Rei da voz”), Benício Ferreira Filho (cartola tricolor e diretor da financeira “Prolar”), Abdias do Nascimento, o historiador Pedro Calmon, o poeta Lêdo Ivo, todos entram e saem da história (vários deles respingados), como tema de conversas soltas entre protagonistas ou coadjuvantes, como se o narrador as captasse casualmente na rua. Na verdade, eram a maneira de Nelson fazer colunismo político, crítica literária e crônica social — sem paralisar a ação e, ao mesmo tempo, escrever o que pensava sobre cada um.
Por exemplo: doutor Odorico está na rua e precisa telefonar. Entra num armazém. Alguém está usando o telefone. O sujeito fala aos berros:
“— Tem lido as memórias do Gilberto Amado? Escuta! É uma falsificação! O Gilberto não apresenta um pulha, um canalha! Em toda a República, ele não vê um presidente patife, um ministro sem-vergonha, um sábio que seja nobre e limpamente um cavalo de 28 patas! No seu mural, falta o excremento. Não enxerga uma prostituta na família brasileira. O Gilberto faz relações públicas com o passado. Reabilita e promove uma série de cretinos retrospectivos!”
A idéia de ouvir alguém discutindo as repolhudas memórias de Gilberto Amado entre latas de banha e sacos de farinha já era engraçada, principalmente para quem conhecia o empavonado Gilberto. Mas com isso Nelson criava também a ilusão de um Rio literário e político, uma Paris a quarenta graus, onde todos eram articulados e tinham opinião sobre tudo. “Asfalto selvagem” era assim, da primeira à última linha.
Numa das passagens mais bem construídas, enquanto Leleco e Silene fazem amor num quarto do “Bar do Pepino”, na avenida Niemeyer (era a sublime primeira vez de ambos), três jornalistas — Ib Teixeira, Raimundo Pessoa e Tinhorão — discutem aos berros sobre a próxima sucessão presidencial bem debaixo da janela dos amantes. Os jornalistas já dão Jânio como eleito, mas garantem que ele não completará o mandato. Será morto antes, porque está louco para isso. Nelson corta de uma cena para outra:
“— A cronologia é: — morte de Jânio, golpe, guerra civil!”, esbraveja um dos jornalistas lá fora.
No quarto, nus, Leleco implora a Silene que diga um palavrão baixinho em seu ouvido para excitá-lo.
A segunda parte de “Asfalto selvagem” foi quase uma criação coletiva. Nelson já tinha toda a história na cabeça desde o começo, mas diversas variações e subtramas lhe foram sendo sugeridas, de propósito ou sem querer, pelos jornalistas que ele metia na história. Nem todos esses jornalistas Nelson conhecia o suficiente para envolvê-los em certas situações. José Ramos Tinhorão, por exemplo. Wilson Figueiredo, seu colega no “Jornal do Brasil”, descreveu-o para Nelson: “~ um rapaz assim, assado”; Nelson criou um novo Tinhorão em sua cabeça e o apresentou como se fosse o verdadeiro. Na vida real Tinhorão tinha realmente um carro caindo aos pedaços, um “Ford” 1935 azul-marinho, conversível, e freqüentava de fato o “Bar do Pepino” — o qual existia e foi um precursor dos motéis de São Conrado, mas a que também se ia apenas para beber. Só que, num espasmo de total irresponsabilidade, Nelson pôs Tinhorão como o principal suspeito de ter deflorado e engravidado Silene. E, para sua nenhuma surpresa, o verdadeiro Tinhorão adorou!
Num caso talvez único na literatura, o destino dos protagonistas de “Asfalto selvagem” era discutido passo a passo entre o autor e os figurantes. Nelson ligava todo dia para Wilson Figueiredo no “Jornal do Brasil”, exatamente como doutor Odorico fazia na história. Perguntava a Wilson o que ele achara do capítulo daquele dia e ouvia de volta:
“Genial! Mas afinal, Nelson, o doutor Odorico vai ou não vai papar a Engraçadinha?”, perguntava.
“Está difícil, Wilson. A moça é a virtude da cabeça aos chinelos.”
“Olha, o Hermano aqui tem um palpite. Você não disse que eles são pobres? Faça doutor Odorico suborná-la com alguma coisa. Uma geladeira, por exemplo.”
Nelson achava graça e dizia que ia pensar. Alguns capítulos depois, a geladeira — uma “Sheer look” branca como uma catedral, comprada a crédito por doutor Odorico no “Rei da voz” — materializava-se na casa de Engraçadinha. E Nelson fazia mais: obrigava doutor Odorico a converter-se à religião de Engraçadinha, achando que, com isso, ela iria para a cama com ele.
Wilson, Hermano, Tinhorão, Carlinhos de Oliveira e os outros adoravam sair em “Asfalto selvagem”. Otto Lara Resende, nem tanto. Otto fingia irritar-se. Ou se irritava de verdade, ninguém sabia ao certo. E com alguma razão: antes de Engraçadinha, e talvez mais do que Engraçadinha, ele era o “leit motiv” da vida de doutor Odorico — um juiz que, na verdade, só tem a pose do juiz. (No fundo, sofre por ter nascido em Mimoso do Sul, ES, fez carreira lambendo botas e é casado com uma “víbora de túmulo de faraó”.)
Em pessoa, Otto até que aparece pouco na história. Mas está permanentemente em cena na cabeça do juiz, que o vê como o sujeito mais brilhante do Brasil. Tudo o que doutor Odorico pensa, diz ou faz é em função do que Otto iria pensar ou dizer. “Ah, se o Otto me visse! “, ou, depois de dizer uma boa frase: “Essa foi digna do Otto~”. Otto é o norte de doutor Odorico, seu “O céu é o limite”, sua estrela-guia. Essa admiração obsessiva o faz também viver citando as frases de Otto (“Não tenho uma opinião no bolso e outra na lapela!”) e as lambendo como se elas fossem um “Jajá” de coco. Como se Otto fosse incapaz de dizer um bom-dia sem pingar-lhe um toque de gênio.
Nelson descreve o juiz indo à casa de Otto, no único encontro entre os dois no romance:
O diálogo com o escritor mineiro era para [doutor Odorico], se assim posso dizer, um excitante, um afrodisíaco espiritual de primeira ordem. A inteligência jorrava do Otto Lara assim como a água dos tritões de chafariz. Foi encontrar aquele jovem espírito remexendo uma papelada imensa. Doutor Odorico deduziu que estaria, ali, a obra que o escritor ia construindo nos intervalos dos seus bate-papos antológicos.
O juiz observa, com uma cálida simpatia intelectual:
— O amigo produz muito!
De cócoras, a mão enfiada naquele torvelinho de papéis rabiscados, o Otto Lara deixa escapar um dos seus lampejos admiráveis:
— Eu sou o autor de muitos originais, e de nenhuma originalidade!
Foi tal o deleite do juiz que chegou a perder a fala. Mais do que nunca, pareceu-lhe humilhante o brilho do Otto Lara. E lamentou que um taquígrafo não andasse atrás dele, as 24 horas do dia, pago pelo Estado, para imortalizar-lhe as frases perfeitas, irretocáveis. Só uma coisa admirava o doutor Odorico: é que esse gênio verbal não arrancasse de si mesmo, todas as semanas, uma “Comédia humana”, uma “Divina comédia” ou “As vidas dos doze Césares”.
Pois era isso que irritava Otto: essa cobrança de Nelson, essa exigência de que ele desovasse obras-primas semanais em forma de poemas, contos, novelas, romances, biografias, enciclopédias. Nelson não se conformava com que Otto vivesse batendo papo pelas esquinas e escrevesse tão pouco. Em outro trecho de “Asfalto selvagem”, Nelson, digo, doutor Odorico, compara Otto a um cano furado:
— Perfeitamente, cano furado! Assim como o cano furado esbanja água num esguicho perdulário, assim o Otto tara esbanja espírito na conversa fiada. Nem a água chega à torneira, nem o espírito à página impressa e perdurável. Falei bem?
Mas, em “Asfalto selvagem”, não é só doutor Odorico que parece obcecado por Otto. A todo momento, sempre que um personagem senta-se num botequim ou toma um elevador, há uma rodinha discutindo a última frase do Otto sobre isto ou aquilo. Era como se ele fosse a consciência do Rio de Janeiro, a última palavra, sempre em disponibilidade para definir qualquer pessoa ou situação. Isso incomodava o tímido, modesto e mineiro Otto. O problema era que Otto podia ser tímido, modesto e mineiro — “um temperamento medieval, nascido em 1522”, como ele se autodefinia —, mas a verdade é que dizia mesmo as frases geniais que Nelson admirava. E, quando não dizia, Nelson as inventava e as atribuía a ele.
“O Nelson Rodrigues está te levando ao ridículo”, advertiu-o Carlos Drummond de Andrade.
Otto ficou preocupado e ligou para Nelson:
“Pára com isso, Nelson!”
Nelson foi queixar-se ao amigo comum, Hélio Pellegrino:
“O Otto está irritado porque eu o homenageio quase diariamente!”
E Hélio, mais moleque do que nunca:
“Não liga, não, Nelson. Continue com as homenagens. O Otto adora aparecer.”
Em 1959, Otto tinha 37 anos (dez a menos que Nelson) e acabara de voltar de uma temporada de três anos em Bruxelas, na Bélgica, onde fora adido cultural do Brasil. Assim que Otto pisou no Galeão, Nelson capturou-lhe uma frase:
“A Europa é uma burrice aparelhada de museus!”
Assim como doutor Odorico, Nelson quase ficou sem fala. Não era de hoje a sua admiração pelo mineiro. Vinha desde 1946, quando Otto se mudara para o Rio, e essa admiração só fizera crescer nas várias redações por que passaram juntos: “O Globo”, “Última Hora”, “Manchete”. Com os anos, Otto tornara-se uma potência como jornalista (só ocupava agora cargos de diretoria), mas Nelson achava pouco os dois livros de contos e novelas que ele publicara até então.
A fixação de Nelson por Otto não caberia em compêndios. Mas, para Otto, essa fixação às vezes equivalia a ter um unicórnio no jardim, olhando-o pela janela. Nelson ia à sua casa na Gávea ou falava com ele por telefone quase todos os dias. Se Otto deixasse, teria de regular seus horários pelos de Nelson. Por isso, às vezes desaparecia.
Como no dia em que Nelson ligou três vezes para a casa de Otto e ouviu a mesma resposta da empregada:
“Doutor Otto não está.”
E Nelson sabia que Otto estava. Resolveu ir em pessoa. Tomou o bonde no Andaraí e viajou mais de uma hora até a praça do Jóquei, perto da rua Artur Araripe, na Gávea, onde Otto morava. Subiu ao segundo andar do prédio sem elevador e bateu à sua porta. A empregada atendeu e deu a mesma resposta:
“Doutor Otto não está.”
Nelson não desanimou. Foi para um botequim do outro lado da rua, pediu um cafezinho e ficou observando o movimento em frente ao prédio de Otto. Durante meia hora, ninguém parecido com Otto entrou ou saiu. Nelson pagou o café, atravessou a rua e subiu novamente ao segundo andar.
Bateu e, desta vez, o próprio Otto abriu:
“Você tinha razão, Nelson. Eu estou.”
O último capítulo da segunda parte de “Asfalto selvagem” saiu no dia 1º de fevereiro de 1960. Nelson planejou uma terceira parte, que incluiria a morte de Engraçadinha e a continuação da história através de Silene. Mas resolveu fazer uma pausa. Nos últimos seis meses escrevera um capítulo diário de folhetim, sem interromper nem por um dia “A vida como ela é...” e sem contar as crônicas sobre futebol para “Última Hora”, “Jornal dos Sports” e “Manchete Esportiva”. Tinha todo o direito de exclamar:
“Trabalho mais que um remador de ‘Ben-Hur’ “, referindo-se ao filme com Charlton Heston, então em cartaz.
Naquele mesmo ano de 1960, “Asfalto selvagem” saiu em livro, em dois volumes, com os subtítulos “Engraçadinha — seus amores e seus pecados dos doze aos dezoito” e “Engraçadinha — depois dos trinta”. Foram lançados por José Ozon, um veterano editor carioca, comunista histórico, velho amigo de sua família. Numa época em que as editoras brasileiras perseguiam o padrão francês de sobriedade, sem grafismos exagerados (no máximo, uma aquarela ou um bico-de-pena suaves), as capas de “Asfalto selvagem” pareciam destinadas à venda em quiosques ou mafuás.
A do primeiro volume, então, dificilmente poderia ser exibida numa casa de família daquele tempo, exceto encapada com papel pardo. Mostrava uma mulher nua, com uma leve tira de pano cobrindo-lhe o sexo, sobre um entusiasmado fundo laranja. Seu próprio editor tratava Nelson como subliteratura, como mero autor de pornografias. Mas Nelson não parecia se importar — porque as orelhas dos dois livros restabeleciam a verdade.
Quem comprou aqueles livros pelas capas e se deu ao trabalho de ler as orelhas deve ter ficado perplexo. As do primeiro volume traziam as opiniões de gente séria — Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, Walmir Ayala, Henrique Pongetti e Sábato Magaldi —, pondo Nelson nas alturas. Por pouco não devem ter afastado certos compradores. As do segundo volume, eruditíssimas e não assinadas, comparavam Nelson a Rabelais, Dante, Cervantes, Camões, Balzac, Zola, Górki, Eça, Aluísio de Azevedo e Lima Barreto, entre os que foram perseguidos em sua época por escrever a verdade. Genial, mas não combinava com aquelas capas vulgarrérimas.
A frase de Pongetti na orelha do primeiro volume resumia bem o sentimento corrente sobre Nelson: “A paixão com que o combatem ou endeusam vai da injúria à genuflexão, sem etapas intermediárias”. Apesar de admirado por alguns pesos-pesados, a opinião geral sobre Nelson naquela época era a de que ele não pertencia à literatura. Exceto por seu teatro, Nelson não era para ser levado a sério —nem mesmo como humorista ou crítico de costumes. Em 1957, R. Magalhães Jr. compilara a sua enorme “Antologia de humorismo e sátira — de Gregório de Matos a Vão Gôgo”, e não excluíra uma única virgula de Nelson nas suas quatrocentas e tantas páginas.
Enxotado da literatura, Nelson tinha de contentar-se com o “povo”. Ozon, seu editor, contava com distribuição nacional (escritórios em São Paulo, Niterói, Belo Horizonte, Fortaleza e Belém), o que explica que os dois volumes de “Asfalto selvagem” tenham chegado aos mais remotos grotões e tirado incontáveis edições. Incontáveis é bem o termo. Ozon era romântico e desorganizado, o que impede que se faça uma idéia de quanto rodou daqueles livros — assim como dos dois volumes de “A vida como ela é...”, intitulados “Cem contos escolhidos”, que saíram em 1961. E, mesmo que se soubesse, a situação dos direitos autorais não era mais brilhante do que em 1944, quando “Suzana Flag” assolou o Brasil com “Meu destino é pecar”. Os livros se vendiam aos milhares, mas isso não parecia converter-se em dinheiro.
Era por isso que Nelson tinha de virar-se. Em 1960, antes de sair em livro, “A vida como ela é...” foi gravada em disco, num LP da Odeon, com um elenco de novela de rádio. Tornou-se programa de rádio, sendo narrada diariamente ao microfone da Rádio Clube às 23 horas por — ora, vejam só — Procópio Ferreira. E foi também lançada em fotonovela por Bloch Editores. Só faltaram adaptá-la para o “Holiday on ice”.
A revista “A vida como ela é... em fotonovela” tirou apenas o número um, em novembro daquele ano. Continha duas histórias, “Véu de noiva”, com Moacir Deriquém e Iracema de Barros, e “O justo”, com Angelito Melo e Jurema Streb. Era como “Sétimo Céu”, a outra revista de fotonovelas dos Bloch, só que para adolescentes ligeiramente mais sapecas — e, daí, proibida para menores de 21 anos... A 1º de janeiro de 1961, no entanto, mudou o governo. Nelson votara em Lott, mas foi Jânio quem tomou posse como presidente e uma nova equipe anunciou que ia moralizar o país. Com o que interrompeu-se preventivamente a produção da fotonovela.
Era por essa e por outras que Nelson gostava de Juscelino.
Gostava tanto que, no dia 21 de abril de 1960, por exemplo, Nelson cometera a suprema façanha de sair do Rio e amanhecer em Brasília, depois de vinte horas de ônibus pela estrada. Nada mal para quem dizia que, “a partir do Méier, começava a sentir uma infinita nostalgia do Brasil”.
O CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva), onde seu filho Joffre fazia o serviço militar, fretara três ônibus e estava levando noventa estudantes secundários, meninos e meninas, para a inauguração da cidade. O comandante convidara Nelson a ir com eles, Nelson aceitara e Samuel Wainer garantira-lhe a hospedagem na capital, em troca de um artigo que ele mandaria de lá. O artigo, “A derrota dos cretinos”, teve chamada de primeira página na “Última Hora” do dia 22 e era uma venenosa provocação aos inimigos da cidade.
Nelson descreve como o ônibus que varou a Belo Horizonte-Brasília tinha de parar a todo instante para que os jovens, inclusive as meninas, fizessem xixi nas moitas à beira da estrada. Chamou aquilo de uma “cistite cívica”, uma urgência das moças, como se elas sentissem que “a História as solicitava”. Em seguida, elogiou a poeira cor-de-canela de Brasília e contestou o poeta Drummond, que escrevera contra aquela poeira no “Correio da Manhã”. Na argumentação de Nelson, o novo Brasil se construiria da poeira de Brasília, e não higienicamente instalado em Copacabana, como Drummond, a milhares de quilômetros. E disse mais que, um dia, haveria de ver o poeta “sujando-se limpa e nobremente no pó de Brasília, batendo martelo, entupido de barro, dando rijas e sadias marteladas, e depois expelindo fogo pelas ventas”.
Nelson nunca veria Drummond fazer isso, é claro, mas Brasília também não corresponderia aos seus sonhos. Muitos anos depois, numa das “Confissões” em “O Globo”, ele diria amargurado:
“Em Brasília todos são inocentes e todos são cúmplices.”
O ônibus que Nelson tomava quase todo dia na Central do Brasil para ir almoçar com sua mãe era o “115”. da linha Laranjeiras—Estrada de Ferro. Um dos choferes, um pernambucano chamado Rubem Francisco da Silva, gostava de exibir-se: tinha 27 dentes na boca, mas eram todos de ouro. Abria a boca no ponto final da rua General Glicério e dizia:
“Olha só! Pode contar, um por um! E não é coroa, é maciço! Ouro 24!”
Não se sabe se, rodando diariamente da Central às Laranjeiras com aquela boca de milhões, Rubem Francisco da Silva viveu para ver o espetáculo. Mas Nelson capturou o mote dos seus dentes, combinou-o com um personagem real do submundo carioca, o “bicheiro” Arlindo Pimenta, e com esse material produziu a sua nova peça: “Boca de Ouro”.
A exemplo de “Álbum de família”, “Anjo negro”, “Senhora dos afogados” e “Perdoa-me por me traíres”, também “Boca de Ouro” tropeçou na censura e atravessou alguns meses de 1960 interditada, até Nelson desembaraçá-la com Armando Falcão. Ziembinski levou-a para montá-la em São Paulo, em dezembro, no antigo Teatro Federação, mais tarde Cacilda Becker. Seria a única estréia paulista de Nelson — e um retumbante fracasso. Ziembinski, contra todas as evidências de que não iria dar certo, insistiu em ser, ele próprio, Boca de Ouro.
É certo que Nelson definira o personagem como o “Drácula de Madureira”, o “Rasputin suburbano”. Mas essas imagens centro-européias não obrigavam a que o ator que o representasse tivesse de falar com um sotaque da Transilvânia. A não ser que, por Boca de Ouro ter nascido numa pia de gafieira, Ziembinski atribuísse aquele sotaque ao fato de que Boca de Ouro talvez fosse filho de uma “polaca” do Mangue. Mas era inútil: Boca de Ouro era um malandro de subúrbio carioca, com ginga, malícia e “swing” próprios — o que Ziembinski, com toda a sua vivência do Rio, era incapaz de reproduzir. Foi essa a opinião de Décio de Almeida Prado, com a qual Sábato Magaldi concordou, e, com isso, “Boca de Ouro” calou-se rapidamente em São Paulo.
Mas ressuscitou gloriosamente no Rio um mês depois, em janeiro de 1961, com direção de José Renato e o elenco perfeito: Milton Morais, como Boca de Ouro; Vanda Lacerda, como sua ex-amante, dona Guigui; Ivan Cândido, como sua suposta vítima, Leleco; Beatriz Veiga, como sua nova amante, Celeste; e Tereza Rachel, como sua assassina, Maria Luisa. No seu hábitat natural, “Boca de Ouro” ganhou outra dimensão, que levaria Hélio Pellegrino a escrever uma ode sobre o personagem em “O Jornal”:
“Boca de Ouro, nascido de mãe pândega, parido num reservado de gafieira, tendo perdido o paraíso uterino para defrontar-se com uma realidade hostil e inóspita, sentiu-se condenado à condição de excremento”, escreveu Hélio. “Seu primeiro berço foi a pia da gafieira, onde a mãe, aberta a torneira, o abandonou num batismo cruel e pagão. Essa é a situação simbólica pela qual o autor, com um vigor de mestre, expressa o exílio e a angústia humana do nascimento, o traumatismo que nos causa, a todos, o fato de sermos expulsos do eden e rojados ao mundo, para a aventura do medo, do risco e da morte. Boca de Ouro, frente a essa angústia existencial básica, escolheu o caminho da violência e do ressentimento para superá-la. Ele, excremento da mãe, desprezando-se na sua enorme inermidade de rejeitado, incapaz de curar-se dessa ferida inaugural, pretendeu a transmutação das fezes em ouro, isto é, da sua própria humilhação e fraqueza em força e potência.
“Essa alquimia sublimatória ele a quis realizar através da violência, da embriaguez do poder destrutivo pela qual chegaria à condição de deus pagão, cego no seu furor, belo e inviolável na pujança da sua fúria desencadeada. Ao útero materno mau, que o expulsou e o lançou na abjeção, preferiu ele, na sua fantasia onipotente, o caixão de ouro, o novo útero eterno e incorruptível onde, sem morrer, repousaria.”
Nelson leu isso com os olhos turvos pelas lágrimas. Apontou para Hélio Pellegrino e exclamou:
"É o nosso Dante!”
Protesto em nome da família brasileira!”, gritou um espectador exaltado, em cena aberta de “Beijo no asfalto”.
Todos se voltaram para ele: os outros espectadores, o elenco, os contra-regras. Era como se aquele homem de gravata, sobraçando uma honesta pasta, representasse ali, na platéia do Teatro Ginástico, a típica célula familiar brasileira de 1961, composta de marido, mulher, amante, um casal de filhos, a sogra, a cunhada, o gato e o papagaio. Alguém ainda tentou reagir:
“Cala a boca!”
Mas outras vozes se juntaram à do homem de pasta:
“Isto é um acinte!”
“Onde está a polícia que não fecha esta indecência?”
O motivo da revolta era uma fala de Selminha, interpretada por Fernanda Montenegro, quando ela tentava defender a virilidade de seu marido Arandir (Oswaldo Loureiro) contra as sórdidas insinuações do delegado Cunha (Ítalo Rossi) de que Arandir seria homossexual:
“— Ou o senhor não entende quê? Eu conheço muitas que é uma vez por semana, duas e, até, quinze em quinze dias. Mas meu marido todo dia! Todo dia! Todo dia! (Num berro selvagem.) Meu marido é homem! Homem!”
A insurreição da platéia só não foi adiante porque maridos em quantidade apreciável, talvez pouco assíduos em suas obrigações domésticas, tomaram suas mulheres pelo braço e retiraram-se masculinamente do teatro. Uma dessas mulheres protestou:
“Eu não quero ir, Aparício! Quero ficar!”
Mas foi arrastada do mesmo jeito.
Fernanda Montenegro levara mais de um ano para extrair uma peça de Nelson para a sua companhia, o “Teatro dos sete”. Procurara-o pela primeira vez em fins de 1959 e ele lhe prometera a peça. Passaram-se semanas e nada de peça. Fernanda começou a telefonar-lhe em “Última Hora”. Nas primeiras vezes, Nelson atendeu e deu uma desculpa:
“Muito trabalho, meu anjo. Trabalho pra chuchu!”
Não era exagero: Nelson estava escrevendo “Asfalto selvagem” e “A vida como ela é...” diariamente na “Última Hora”, uma coluna também diária no “Jornal dos Sports” e, além disso, já tinha uma peça pronta, que era “Boca de Ouro”. Nas vezes seguintes, Nelson vinha ao telefone, falava “Alô?” e, quando percebia que era Fernanda, dizia com sua voz inconfundível:
“Mas aqui não é o Nelson, meu coração. ~ o Nestor.”
Fernanda parou de ligar. Em fins de 1960, foi Nelson que a procurou, a ela e a seu marido Fernando Tôrres, para entregar-lhes “Beijo no asfalto”.
Escrevera-a em 21 dias, inspirado na história de um velho repórter de “O Globo”, Pereira Rego, que fora atropelado por um “arrasta-sandália” (um tipo de ônibus antigo) em frente ao “Tabuleiro da Baiana”, no largo da Carioca. Ao ver-se no chão, perto de morrer, Pereira Rego pedira um beijo a uma pessoa que se debruçara para socorrê-lo. Só que essa pessoa era uma jovem.
Nelson fez com que o atropelado na praça da Bandeira pedisse o beijo a um homem — Arandir. Um repórter, Amado Ribeiro (sempre esse homem fatal), de “Última Hora”, presencia o atropelamento e o beijo. Anota nome e endereço do atropelado e do outro, e vai a um delegado no desvio para propor-lhe a sua reabilitação: iriam criar um caso em cima daquele beijo no asfalto. Pederastia na via pública — um escândalo para vender jornal e parar a cidade. O repórter e o delegado forjam testemunhas e transformam o que fora um beijo de piedade num caso amoroso e sinistro entre dois homens.
“Última Hora” estampa o caso em manchetes e em toda a cidade só se fala no “beijo no asfalto”. Arandir, o rapaz que beijara, começa a ser perseguido no trabalho e se demite; seu sogro, que nunca gostara dele como genro, intriga-o com sua mulher; e até esta começa a duvidar. Quando a história ameaça esfriar, Amado Ribeiro (interpretado por Sérgio Britto) transforma o caso num crime e reúne indícios para provar que Arandir empurrara o sujeito para debaixo do lotação. É puro Kafka, o Kafka de “O processo”. Uma cidade inteira acredita no homossexualismo de Arandir. E é esmagador porque, agora, até sua mulher passou a acreditar. Ele é o único que sabe a verdade — uma voz solitária contra a unanimidade. No desfecho, descobre-se que homossexual era seu sogro (Mário Lago), e o que pareciam ser ciúmes da filha eram, na verdade, ciúmes do genro, por quem o sogro era apaixonado em segredo. O velho o mata e se abraça a ele chorando.
Sábato Magaldi discordou desse final:
“Nelson, você queria fazer drama grego ou espanhol e acabou fazendo drama mexicano”, ele disse.
“E quem garante a você que o drama mexicano é menos drama do que o drama grego ou espanhol?”, retrucou Nelson.
O “Teatro dos sete” já encenara Bernard Shaw e Georges Feydeau, mas seria com “Beijo no asfalto” que Fernando Tôrres, Fernanda Montenegro e Sérgio Britto se realizariam como companhia. Isso apesar dos percalços sofridos durante a temporada: “Beijo no asfalto” tinha um mês e meio em cartaz quando Jânio renunciou a 25 de agosto, poucas semanas depois de proibir os desfiles de misses em maiô. O país parou por quase dez dias, a um passo da guerra civil — não pelas misses, claro. Quando as coisas se acalmaram, a peça foi retomada, mudou-se para o teatro da Maison de France e viajou depois para o Sul. Foram ao todo sete meses em cartaz, o maior sucesso de Nelson, e poderia ter sido muito maior se Jânio não tivesse tomado aquele pileque.
Mas não foi um sucesso tranqüilo. Quando a peça estava na Maison, Nelson ia todas as noites para o teatro e ficava no saguão, de guarda-chuva no braço, com seu filho Joffre, tomando satisfações de quem saía indignado no meio do espetáculo:
Corria atrás do sujeito e o interpelava:
“Mas vem cá. Me diz uma coisa. O que o ofendeu nessa peça?”
Às vezes o cidadão engrossava e Nelson engrossava de volta. Mas quase sempre conseguia convencê-lo a voltar para ver o resto.
O próprio Nelson tivera de ser convencido pelos Fernandos — Tôrres e Montenegro — a tornar o texto um pouco mais ofensivo, salpicando-o com alguns palavrões. Foi quando muitos se deram conta de que, até então, nenhuma peça de Nelson contivera um único palavrão!
“Mas a minha musa sereníssima, a minha Duse, vai dizer palavrões?”, protestou Nelson.
A contragosto, Nelson enxertou alguns nomes feios no texto, como um confeiteiro aplica cerejas podres numa torta. Quer saber quais eram? “Chupão”, “gilete” e “barca da Cantareira” — e nenhum deles a ser ditos por Fernanda, mas pelo repórter e pelo delegado, dois boçais. Com ou sem aquelas palavras, no entanto, “Beijo no asfalto” teria o mesmo impacto.
“Beijo no asfalto” provocou a saída de Nelson de “Última Hora”. Não porque Amado Ribeiro fosse personagem da peça, repetindo o repórter amoral e sem escrúpulos que Nelson já descrevera em “Asfalto selvagem”. Mas porque as referências a “Última Hora” não contribuíam muito para a imagem do vespertino. Falava-se até de Samuel Wainer, na cena em que Selminha diz para seu pai:
“— Como é que um jornal, papai! E o senhor que defendia tanto o Samuel Wainer! Como é que um jornal publica tanta mentira!”
Para que Nelson incluísse essa fala numa peça enquanto empregado de Samuel Wainer e do jornal, só poderia haver uma explicação: excesso de independência — ou de inocência. Os Fernandos acharam melhor se precaver. Gostariam de uma carta de Amado Ribeiro e outra de Samuel Wainer, autorizando-os a usar seus nomes e o de “Última Hora”. Nelson achava desnecessário — já escrevera sobre “Última Hora” e na própria “Última Hora”. Mas Fernando Tôrres insistiu.
Com Amado Ribeiro não houve problema. Assistiu a um ensaio, vibrou, foi ao palco abraçar Sérgio Britto e repetiu seu bordão: “Eu sou pior! Eu sou pior!”. Produziu ali mesmo uma declaração e assinou. Já Samuel Wainer não podia dar a carta, estava fora do Brasil. Um diretor interino forneceu-a, liberando o uso do título. O espetáculo entrou em cartaz, houve a renúncia de Jânio, aconteceu o alarido que mobilizou “Última Hora” e o país e, quando a peça foi para a Maison, Samuel chamou Nelson e mandou-o tirar o jornal da história.
Nelson pediu aos Fernandos que atendessem Samuel. Bastava trocar o nome, inventar outro. Mas Fernando Tôrres não quis ceder. A peça já estava em cartaz, não ficaria bem, seria o suicídio moral do espetáculo. E havia outro argumento:
“Temos uma carta”, disse Fernando Tôrres.
“E se eu for demitido?”, perguntou Nelson.
“Ora, Nelson, qual o jornal que não gostaria de ter você?”, respondeu Fernanda Montenegro.
Nelson cedeu, mas a situação pesou para ele dentro de “Última Hora”. Colegas viraram-lhe o rosto. Nem o seu teatro parecia agradar-lhes mais. E, pensando bem, já não precisavam dele, porque a esquerda tinha agora os seus próprios autores: Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Boal, para não falar em Dias Gomes. Nelson tornara-se purê de ontem. A idéia do desemprego provocava cambalhotas em sua úlcera. (“Manchete Esportiva” já não existia.) Mas ele próprio se convenceu de que seus dias em “Última Hora” haviam terminado.
Pediu demissão a Samuel, aceita sem restrições. Estava deixando um jornal em que trabalhara desde o primeiro número e no qual publicara, durante dez anos, cerca de duas mil histórias de “A vida como ela é...”, num astronômico total de dez mil laudas — trezentas mil linhas!
Ninguém lhe dissera nada, mas a atmosfera já estava carregada para Nelson em “Última Hora” havia pelo menos seis meses. Mais exatamente, desde 24 de março daquele ano de 1961 — quando Nelson se atrevera a publicar, num semanário recém-lançado chamado “Brasil em Marcha”, onde colaborava, um artigo sobre um velho amigo seu e cujo titulo parecia piscar em néon:
“O meu ex-patrão Roberto Marinho.”
A memória prega peças. Até hoje há quem afirme que, ao sair de “Última Hora”, Nelson asfaltou sua volta a “O Globo” com o artigo sobre Roberto Marinho em “Brasil em Marcha”. Mas as datas não coincidem. Ao contrário. Quando Nelson elogiou Roberto Marinho, em março, ainda estava em suas plenas funções de colunista de “Última Hora” e de empregado de Samuel Wainer. E, ao sair de “Última Hora”, em setembro, não foi direto para “O Globo”, mas para o “Diário da Noite’’. Levou com ele ‘‘A vida como ela é...” e foi recebido com tanto estardalhaço no jornal de Chateaubriand que o anúncio da sua estréia ocupou quatro quintos da capa do “Diário da Noite”. Mas este, como outros jornais dos “Associados” nos anos 60, já era um órgão murcho e às vésperas de falir. Nelson passou dez meses lá e só foi para “O Globo” em julho de 1962 — e não para escrever “A vida como ela é...”, mas uma coluna de futebol, “À sombra das chuteiras imortais”.
Afinal, o que havia no artigo sobre Roberto Marinho que cavara a sepultura de Nelson em “Última Hora” (e cuja cruz seria o episódio de “Beijo no asfalto”)? Os trechos principais diziam:
Outro dia, numa reunião de artistas, alguém me pergunta: — “O que é que você acha do Roberto Marinho?”. Fizeram um silêncio, uma espécie de concha acústica, para ouvir minha opinião. A maioria dos presentes queria acreditar que Roberto Marinho é egoísta, cruel, volutuoso como um Nero de Cecil B. DeMille. Em vez de dar uma opinião, preferi contar um fato. O caso é que, em 1931, entrei para “O Globo”. Eu era, na ocasião, um pobre-diabo, da cabeça aos sapatos. Ninguém mais obscuro, ninguém mais anônimo. E confesso: — eu olhava Roberto Marinho com uma amargura hedionda. Ele tinha tudo e eu não tinha nada. Diante dele, eu me sentia, digamos assim, uma espécie de Raskolnikov de galinheiro. A única coisa que havia em mim, dia e noite, era o fermento do ódio social.
Um dia, cai doente, muito doente. Febre alta, tosse, o diabo. Tiro radiografia: —lesão pulmonar. Eu devia subir para Campos do Jordão imediatamente. Mas não tinha um níquel no bolso. Era tal o meu estado de fraqueza que me vinha, por vezes, uma certa nostalgia da morte. O que eu queria dizer é que Roberto Marinho não me deu nenhum chute. Deixei o Rio, passei três anos fora, em tratamento. E ele me pagou, piamente, integralmente, o meu ordenado, até o fim. Passados os três anos, voltei. Estava bom. Passei no “O Globo”. Ao me ver, Roberto Marinho disse, simplesmente: — “Alô, Nelson”. Foi só.
No futuro, Nelson contaria muitas vezes essa história simplificada da tuberculose e dos salários, mas foi ali que ela saiu pela primeira vez. Era apenas o reconhecimento de uma gratidão pessoal, sem nenhum conteúdo político. Mesmo assim, o artigo só não provocou a sua demissão de “Última Hora” porque Roberto Marinho, na época, era o terceiro ou quarto inimigo de Samuel Wainer na sua lista dos dez mais. (Antes dele vinham, pelo menos, Carlos Lacerda e Assis Chateaubriand.) Mas era suficiente para que Samuel visse naquilo uma falta grave de “esprit de corps”.
“Brasil em Marcha”, um semanário fundado por um joalheiro polonês chamado Michael Krymchantowsky, casado com a atriz Fada Santoro, tinha fumaças de “The Spectator” londrino ou “Le Monde” e era uma publicação quase clandestina. O creme da inteligência de esquerda e de direita colaborava, de Celso Furtado a Eugênio Gudin. Com fontes de renda meio obscuras, o jornal cambaleou por uns tempos, tornou-se mensal em 1962, encolheu a tablóide e faleceu em 1965. Mas fora ali que Nelson inaugurara, de fevereiro a junho de 1961 (enquanto seu irmão Augustinho era editor), o tipo de crônica que depois se tornariam as “Confissões”.
A primeira dessas crônicas, a 10 de fevereiro, sobre Juscelino — que acabara de passar a faixa a Jânio e já estava sendo visto pelos ex-amigos como um cartucho usado —, essa, sim, era um hino. Em certo trecho, Nelson dizia de Juscelino:
Ninguém mais antipresidencial. Ele trouxe a gargalhada para a presidência. Nenhum outro chefe de Estado, no Brasil, teve essa capacidade de rir — e nos momentos mais inoportunos, menos indicados. Dir-se-ia que tinha sempre um riso no bolso, riso que ele puxava, escandalosamente, nas cerimônias mais enfáticas. Os outros presidentes têm sempre a rigidez de quem ouve o Hino Nacional. Cada qual se comporta como se fosse a estátua de si mesmo. Não Juscelino. Quando ele tirou os sapatos para Kim Novak (que achado genial! que piada miguelangesca!), ele foi o antipresidente, uma espécie de cafajeste dionisíaco. Eu diria que jamais alguém foi tão brasileiro. O novo Brasil é justamente isso: — um presidente que tira os sapatos para uma beleza mundial.
Lançam a inflação na cara de Juscelino. Mas o Brasil estava de tanga, estava de folha de parreira ou pior: — com um barbante em cima do umbigo. Todo o Nordeste lambia rapadura. E vamos e venhamos: para um povo que lambe rapadura, que sentido têm os artigos do professor Gudin? Sempre existiram os Gudin e o povo sempre lambeu rapadura. Ao passo que o Brasil só conheceu um Juscelino. Eu poderia falar em Furnas, Três Marias, estradas, Brasília, indústria automobilística. Mas não é isso que importa. Amigos, o que importa é o que Juscelino fez do homem brasileiro. Deu-lhe uma nova e violenta dimensão interior. Sacudiu, dentro de nós, insuspeitadas potencialidades. A partir de Juscelino, surge um novo brasileiro. Aí é que está o importante, o monumental, o eterno na obra do ex-presidente. Ele potencializou o homem do Brasil.
Eram outras colaborações de Nelson em “Brasil em Marcha” que estavam fazendo com que o olhassem torto em “Última Hora”. Nominalmente, aquelas em que ele comprou publicamente a briga com a esquerda teatral brasileira.
E logo com quem? Com Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, que, aos 25 anos em 1961, vivia pelas ruas com duas tochas adolescentemente acesas: uma pelo teatro e outra pela revolução. Na época, Vianinha estava empenhado na montagem itinerante de “Patria o muerte”, sua peça sobre Cuba em parceria com Armando Costa e Antônio Carlos Fontoura. O espetáculo satirizava a frustrada invasão da baía dos Porcos pelos exilados cubanos de Miami, e era levado em portas de fábricas, praças de subúrbios e outros cenários jdanovianos onde houvesse operários ansiosos por ouvir sua mensagem. Mas as escassas platéias provavam que o proletariado, alienadíssimo, não estava muito interessado no assunto. Nem de graça.
Num artigo que se pretendia irônico e carinhoso, intitulado “A cambaxirra da revolução”, em 31 de março (de 1961), Nelson dá a entender que o fracasso da idéia de Vianinha talvez se devesse ao fato de a peça, a começar pelo título, ser em espanhol. E exorta Vianinha a se livrar daquela “alienação trágica e linda”, daquela “candidez em último grau”, e a se alistar, não por Cuba, mas pelo Brasil. Ou, pelo menos, a falar português. Nelson jura que, se Vianinha fizer isso, ele será seu feroz aliado e abrirá uma barricada ao seu lado. Em seguida, atribui o equívoco do jovem dramaturgo (“Está numa idade em que muitos ainda tomam carona de bonde e outros raspam pernas de passarinho a canivete”) à sua ingenuidade. Mas garante que é exatamente essa ingenuidade que o salvará:
A revolução tem de tudo: sujeitos bestiais que saem por ai bebendo sangue, chupando carótidas, decapitando marias antonietas. Mas há também o que eu chamaria os colibris, as cambaxirras. O Vianinha é justamente a “cambaxirra da revolução”. Tão terno e tão passarinho que não daria um tiro nem de espingarda de rolha. Quando o vejo, a minha vontade é oferecer-lhe alpiste na mão.
Vianinha, pelo visto, aceitou o alpiste: respondeu a sério no próprio “Brasil em Marcha”, arrasando a obra de Nelson e acusando-o de criar personagens que urram e batem no peito como animais, felizes por não ter de pensar”. E pergunta se, diante da súbita “sede de pensar varrendo o Brasil”, ainda haveria alguém interessado na fidelidade da mulher ou nas pernas da vizinha.
A polêmica, para Nelson, é que era o verdadeiro afrodisíaco. No número seguinte do semanário, o de 14 de abril, ele treplicou, com clara satisfação:
Para um velho como eu (sou realmente uma múmia), é uma delícia discutir com as Novas Gerações. Todavia, há no meu debate com o Vianinha um defeito técnico. Pergunto: — como polemizar com um sujeito que eu trato pelo diminutivo? Sim, como xingar um sujeito que eu próprio chamo, risonhamente, de Vianinha? Mas, se eu tenho os meus escrúpulos sentimentais, o meu jovem inimigo não faz o mesmo. Pelo contrário: — com o furor de um falso Tartarin, ele investe contra mim, contra a minha obra e não deixa pedra sobre pedra. E, agora mesmo, ao redigir estas linhas, tenho que espanar a poeira do meu próprio desabamento.
Mas vejam vocês: — ao ler a resposta percebi, subitamente, tudo. Perpetrei, na mais abjeta boa fé, uma gafe hedionda. Sim, ao negar a bestialidade, a ferocidade do teatrólogo, eu o comprometi! Amigos, eu ignorava, sob a minha palavra de honra, ignorava que, todas as tardes, o Vianinha vai para a porta da UNE. E lá, em exposição, faz um sucesso imenso. Posa de sanguinário. Mas, para sustentar esse êxito, tem de parecer bestial, tem de parecer feroz. Seu ar, na porta da UNE, é de fanático sempre disposto a ferrar os caninos na carótida mais à mão. E, de repente, venho eu e digo: “O Vianinha é um Drácula de ara que! O Vianinha é a cambaxirra da revolução!”.
Então, no seu ressentimento, o Vianinha nega, de alto a baixo, o meu teatro. E por que nega? E simples: — porque eu não faço propaganda política, porque não engulo a arte sectária. Em suma: — o Vianinha queria que o Boca de Ouro parasse a peça e apresentasse um atestado de ideologia. Mas ele quer mais. Não basta o personagem. Exige também do autor o mesmo atestado. A minha vontade é perguntar ao Vianinha: —“Ô, rapaz! Você é revolucionário ou ‘tira’?”.
No artigo com que encerrou a polêmica, o de 21 de abril, Nelson diverte-se com o fato de que Vianinha, ao dizer que “o brasileiro não é mais o sujeito preocupado com a fidelidade da mulher”, involuntariamente plantou “chifres anelados e ornamentais” na testa de toda uma população. “Mas onde o teatrólogo brilha como um sol furibundo”, diz Nelson, “é quando descobre o subdesenvolvimento sexual do Brasil. O desprazer com que olhamos a coxa da vizinha prova, à saciedade, que o nosso erotismo é ralo, é escasso.”
Embora Nelson estivesse dizendo exatamente o que pensava nesses artigos, o tom era de delicada galhofa porque ele admirava Vianinha e pressentia a “evidência escandalosa do seu talento”. Mas a galhofa e a delicadeza cederam lugar a um tom magoado e agressivo quando ele respondeu a um ensaio de Carlos Estevam Martins no jornal da UNE, “O Metropolitano” — em que o jovem sociólogo e presidente do CPC (Centro Popular de Cultura), chamando-o de “reacionário”, pregava um “teatro popular” nos mais engomados e intolerantes padrões coletivistas do “realismo socialista”. Padrões pelos quais o drama do indivíduo não interessava, e nem o próprio indivíduo.
O artigo de Nelson, “Teatro popular”, saiu no “Brasil em Marcha” de 7 de abril, abrindo uma janela na polêmica com Vianinha. Certamente de propósito, Nelson troca o nome de Carlos Estevam por José Estevam e, depois de dizer que os “revolucionários burros” estavam se tornando tão numerosos quanto a frota da “Kibon” — um em cada esquina —, comenta:
Segundo sua concepção, o “teatro popular” há de ter o “mínimo de teatro” e há de excluir, como inútil trambolho, o ser humano. O José não admite a presença do homem em cena nem para carregar bandejas, nem para dar recados. Levando ao último extremo a “desumanização do teatro”, eis o que propõe o José: — em vez de amor, em vez de ódio, em vez das paixões que lembram a besta humana, o “revolucionário burro” quer o petróleo e seus derivados, quer manganês, quer minérios, quer batatas, quer abacates. E, nessa altura dos acontecimentos, percebemos que o ensaísta é um centauro de Marx de galinheiro com Brecht também de galinheiro. Vejam vocês: — um “teatro popular” que exclui o homem e que vai mais longe: — exclui o próprio teatro. Pode-se imaginar que o dramaturgo já não seria mais dramaturgo, que seria apenas uma arara da mais rasante palavra de ordem.
A pecha de “reacionário” também era assumida ali pela primeira vez por Nelson — isso numa época em que as cobranças eram tão intensas na área cultural que até os concretistas estavam produzindo poemas cubanos. Para Nelson, era como se ele estivesse sendo o personagem de “Beijo no asfalto” —a voz solitária contra a unanimidade:
O Brasil atravessa um instante muito divertido de sua história. Hoje em dia, chamar um brasileiro de reacionário é pior do que xingar a mãe. Não há mais direita nem centro: — só há esquerda neste país. Perguntem ao professor Gudin: — “Você é reacionário?”. Sua resposta será um tiro. Insisto: — o brasileiro só é direitista entre quatro paredes e de luz apagada. Cá fora, porém, está sempre disposto a beber o sangue da burguesia. Pois bem. Ao contrário de setenta milhões de patrícios, eu me sinto capaz de trepar numa mesa e anunciar gloriosamente: — “Sou o único reacionário do Brasil!”. E, com efeito, agrada-me ser xingado de reacionário. É o que eu sou, amigos, é o que sou. Por toda parte, olham-me, apalpam-me, farejam-me como uma exceção vergonhosa. Meus colegas são todos, e ferozmente, revolucionários sanguinolentos. Ao passo que eu ganho, eu recebo da Reação.
E, no entanto, vejam vocês: — como é burra a burguesia! Eu, com todo o meu reacionarismo, confesso e brutal, sou o único autor perseguido do Brasil, o único autor interditado, o único que, até hoje, não mereceu jamais um mísero prêmio. Pois bem. Enquanto a classe dominante me trata a pontapés e me nega tudo — que faz com os outros? Sim, que faz com os autores altamente politizados? Amigos, eis o equívoco engraçadíssimo: — a burguesia os trata a pires de leite, como gatas de luxo. O Dias Gomes, com o seu “Pagador de promessas”, fez um rapa de prêmios. O Flávio Rangel não dá um espirro sem que lhe caia um prêmio na cabeça. O meu amigo Augusto Boal, premiado. O Vianinha, premiadíssimo.
Há, porém, uma hipótese a considerar: — quem sabe se o equívoco não é laboriosamente premeditado? Porque os meus colegas citados têm, a um só tempo, um imenso talento teatral e uma imensa burrice política. O talento distrai a burguesia e a burrice a serve.
Nelson aproveitou uma pausa num ensaio de “Beijo no asfalto”, em junho de 1961, chamou Fernanda Montenegro a um canto do palco e perguntou em tom de conspiração:
“Fernanda, seja sincera. É uma suposição. Se você tivesse um amante misterioso, que presente gostaria de receber dele? Um presente tão misterioso quanto o próprio amante.”
Fernanda falou alto, quebrando a conspiração:
“Sei lá, Nelson! Não tenho amantes misteriosos!”
Dias depois, Nelson voltou ao assunto com Fernanda, mas agora triunfante:
“Achei!” — e mostrou-lhe uma edição de luxo, em francês, de “Toi et moi”, o inevitável livro de poemas eróticos (digamos, sensuais) de Paul Géraldy, um clássico entre namorados desde 1913.
Era o seu presente do Dia dos Namorados para a mulher por quem estava apaixonado: Lúcia Cruz Lima.
Desta vez era sério. E, no começo, pareceu tão simples. O cunhado de Lúcia jogava pólo no Itanhangá e ela ia vê-lo de vez em quando. Helena, irmã de Nelson, cobria pólo para o “Jornal dos Sports”, e a conheceu. Lúcia falou a Helena de sua admiração por Nelson. Na primeira festa no apartamento do Parque Guinle, Helena convidou Lúcia e a apresentou a Nelson. Da parte de Nelson, foi amor à primeira vista. Bem, ele era assim.
Mas, no caso de Lúcia, por que não seria? Vinte e cinco anos, linda, loura, olhos verdes, “mignon”, 48 quilos, leve e delicada como Audrey Hepburn. Estudara a vida toda no Colégio Jacobina, era fina, esportiva, sócia do Country, falava francês, vestia-se com Guilherme Guimarães. E parecia alegre, viva, inteligente. E o melhor era que também olhava para Nelson com um brilho que parecia iluminar o dramaturgo, o jornalista — e o homem.
“O olhar dela diz tudo”, sussurrou Nelson para Helena, como se, de repente, tivesse raiado o sol no horizonte do Brasil.
Lúcia tinha um único defeito, e grave: era casada. Seu marido, Georges Barrene, era jovem, bonito, 1,85m, vegetariano, educadíssimo, filho único, herdeiro das pastilhas “Valda” e os dois tinham uma filha de três anos, Maria Luisa. Lúcia e Jorginho, como o chamavam, conheciam-se desde a infância, suas famílias eram amigas, o casamento fora quase inevitável. Mas era um casamento apenas confortável, sem paixão — e que já estava reduzido a uma simples coabitação quando Lúcia conheceu Nelson.
Nelson e Lúcia começaram a se ver, de maneira discreta. Ela ia encontrá-lo na porta do teatro, na avenida Graça Aranha, escondiam-se no “Metro Passeio” e viam o filme de mãos dadas. A empolgação de Nelson era perceptível para todos os seus amigos. Mas a ninguém ele dizia o nome de Lúcia.
“Esta é a maior”, contou Nelson a seu colega Geraldo Romualdo da Silva. “Estou apaixonado por uma grã-fina casada. E ela por mim. E agora?”
Quando “Beijo no asfalto” estreou, a 7 de julho, Nelson dedicou-lhe a estréia. No saguão do Ginástico, Nelson estava com Joffre, então com vinte anos, quando seu filho notou que aquela mulher jovem e bonita olhava na sua direção.
“Olha lá, papai, aquela moça está me dando a maior bola!”, disse Joffre.
“Desculpe, meu filho”, respondeu Nelson. “Mas não é pra você: — é pra mim.
Joffre caiu das nuvens. Era verdade — e, desta vez, ele sentiu que a paixão de seu pai por Lúcia não se parecia com nenhum dos outros “casos” no passado.
Nelson estava deslumbrado e, ao mesmo tempo, incomodadíssimo. Lúcia era literalmente do outro mundo — no sentido de que pertencia a um mundo tão diferente do seu. E havia o problema de Elza. Estavam casados há 21 anos, tempo mais que suficiente para que qualquer casamento comece a parecer um remédio já vencido. E tempo demais também para que um casal se separe. Mas Nelson, às vésperas de fazer 49 anos, viu em Lúcia a perspectiva de um renascimento.
Ninguém é exatamente velho aos 49 anos, mas Nelson aparentava muito mais. Era lento de gestos (acender um cigarro tomava-lhe uma infinidade), pesado, sedentário. Sua fala era uma espécie de mugido arrastado, a ponto de muitos pensarem que vivia bêbado — ele, que nunca pusera uma gota de álcool na boca. Quando se empolgava, a voz ganhava outra tonalidade e as silabas quase se atropelavam, mas isso era raro, porque Nelson parecia carregar uma tristeza perene. Quando se sentava para escrever, os ombros caíam e ele, que não era baixo, encolhia. A visão dos suspensórios também não ajudava. O que pareciam traços de beleza na juventude tinham sido devastados pelos abalos de saúde e pelo seu estilo de vida — o rosto magro e bem desenhado lembrava agora um buldogue. E Nelson era publicamente doente. Todos sabiam que fora tuberculoso e ele próprio encarregava-se de promover sua úlcera como se ela fosse Maria Callas. Era cardíaco, precisava se cuidar. Tinha ainda uma enxaqueca permanente, comum a toda a sua família. E sofria também de hemorróidas.
Quando Lúcia revelou a história a suas amigas no Country e nos lugares sofisticados que freqüentava, elas não acreditaram. Como podia interessar-se por um homem tão mais velho, feio, doente, relaxado, certamente cheio de manias e, para piorar, casado — por mais inteligente e fascinante que fosse? O choque dos amigos de Nelson também não foi menor. Otto Lara, Hélio Pellegrino, seu novo amigo Cláudio Mello e Souza, todos conheciam Lúcia. Sabiam muito bem o poder de sedução que Nelson em campanha era capaz de exercer sobre uma mulher, mas aquilo era demais. Ele talvez fosse capaz de separar-se de Elza, mas a família de Lúcia nunca aprovaria um casamento.
O pai de Lúcia, o doutor Carlos Cruz Lima, era um dos clínicos mais respeitados do Rio. Neto de barão, ex-presidente do Country, amigo do Ibrahim, catedrático da Faculdade Nacional de Medicina, sua família era nome de rua no Flamengo. Como se esperava, ele e sua mulher, dona Lidinha, foram frontalmente contra o romance da filha, embora não pudessem impedi-lo. Nelson foi procurar doutor Cruz Lima na faculdade, para convencê-lo das suas melhores intenções. Tiveram um bate-boca que não ajudou em nada a causa do amor. Nelson era de novo o tarado.
Mas nada se compara ao que Nelson estava enfrentando em casa. Comunicara a situação lealmente a Elza. Ela fora taxativa ao negar-lhe o desquite e arrancara-lhe a promessa de não tomar nenhuma decisão antes de seis meses ou um ano — contando com que, como das outras vezes em que a separação esteve por um fio, Nelson voltasse atrás. Nelson considerou a situação. E, além disso, Lúcia continuava casada.
Mas não por muito tempo. Lúcia também contara tudo a seu marido e ele fora compreensivo. Sabia que estavam vivendo uma ficção e que o desquite era uma saída tão digna quanto inevitável. Nem precisaram de advogados — foram juntos ao juiz e acertaram os papéis da separação. Por decisão de ambos, Maria Luisa, a filha, iria morar com os pais dele em Santa Teresa; Lúcia voltou a viver com seus pais no Leblon enquanto Nelson não se separasse de Elza.
Foi um longo processo: quase dois anos. A cada tentativa de Nelson de sair de casa, Elza invocava os filhos, os vizinhos, todos os seus anos juntos, o amor eterno que ele cansara de jurar-lhe (e que, se não fosse eterno, não seria amor) e ameaçava suicídio. Mas, agora, nos primeiros meses de 1963, não havia nada que impedisse Nelson. Joffre tinha 22 anos, Nelsinho iria fazer dezoito. Elza ficaria com a casa da rua Agostinho Menezes e o apartamento de Teresópolis. Tinha também o seu emprego no IAPETEC. E Lúcia estava grávida.
Nelson alugara um apartamento para ele e Lúcia na rua Visconde de Pira-já, esquina com Montenegro, em Ipanema. Lúcia já começara a decorá-lo. Nelson sairia de casa e iria para o apartamento de sua mãe no Parque Guinle —a “sala íntima” já estava pronta para recebê-lo. Assim que a criança nascesse, Nelson e Lúcia iriam juntos para Ipanema.
Nelson marcou o dia de sua saída, um domingo.
Elza fez-lhe as malas e eles tiveram um almoço de despedida, o casal e os dois filhos. Enquanto comiam, não se falou em separação, mas era como se uma sombra estivesse sentada à mesa. No meio da tarde, Nelson chamou um táxi, pegou as malas, beijou-os e foi embora. Nas horas seguintes, Elza perdeu o controle e regou muitos tranqüilizantes com uísque. Passou mal, desmaiou, podia morrer. Os garotos telefonaram assustados para Nelson. Este desabalou-se de Laranjeiras, voltou correndo para o Andaraí, chamou-se um médico e Elza foi salva.
Quando ela se recuperou e pareceu mais calma, Nelson chamou outro táxi e foi embora.
- 1963 - DANIELA
Com o Nelson, só a tiro!”, bradava Otto Lara Resende. “Infelizmente, o homicídio está capitulado no Código Penal!”
Na marquise do Teatro Maison de France, na avenida Presidente Antônio Carlos, piscava o titulo da nova peça de Nelson: “Otto Lara Resende ou BONTINHA, MAS ORDINÁRIA”. Seu nome — por extenso, como num cartão de visitas — vinha em letras menores, mas, para desespero de Otto, era visível do mesmo jeito. E acoplado àquela coisa de bonitinha, mas ordinária. O que iriam pensar? Que a bonitinha, mas ordinária, era ele!
“Lá em Minas ninguém vai entender...”, comentou com Otto seu conterrâneo Tancredo Neves, primeiro-ministro de João Goulart.
O culpado de tudo, como sempre, era o Hélio Pellegrino, resmungava Otto. Era o Hélio que estimulava essas brincadeiras sádicas do Nelson.
“O Otto vai adorar, Nelson. Vai até se oferecer para pagar o gás néon!”, garantia Hélio.
Na verdade, ser o título da peça (e de uma peça como aquela) deixou Otto Lara Resende profundamente irritado. Tanto que não foi ver o espetáculo.
E não era por falta de tempo, porque ela ficou cinco meses em cartaz, longos como cinco séculos. Nelson mobilizou todos os amigos, não se conformava com que ele não visse. “Mas até o Tancredo já viu, Otto!”, argumentava. Não ir ao teatro era a única vingança ao alcance de Otto. Porque, de resto, não podia fazer nada, nem reclamar. Descobrira há muito tempo que, quando se tratava de qualquer coisa que Nelson escrevesse a respeito de alguém, se esse alguém não gostasse devia ficar quieto.
“Se reclamar é pior. Aí é que ele encarna mesmo”, dizia Otto.
Esse fora o conselho que Otto dera a Fernando Sabino, quando Nelson começou a citá-lo nas histórias de “A vida como ela é...”. No meio de uma situação dramática, dois personagens começavam a falar de Fernando Sabino — um mal (enfaticamente), outro bem (tibiamente). Fernando seguiu o conselho de Otto e Nelson cansou-se, virou o disco. E fora também o que Otto dissera a Cláudio Mello e Souza.
Cláudio era “copy-desk” do “Jornal do Brasil”, amigo do pessoal do “Teatro dos sete” e freqüentador da casa de Maria Urbana e Hélio Pellegrino na rua Nascimento Bittencourt, no Jardim Botânico, de onde Nelson e Otto não saíam. A beleza física de Cláudio impressionava Nelson, que o saudava exuberante-mente quando ele entrava:
“Mas que beleza! Que beleza! Chegou o ‘perfil de jovem Goethe’! A ‘alegria dos espelhos’!”
Não se limitava a dizer isso na casa de Hélio. Transformou a beleza de Cláudio Melo e Souza em personagem de suas crônicas no “Jornal dos Sports”. Cláudio sentia uma ponta de ironia nessas exclamações, suspeitando que Nelson pudesse estar chamando-o de bonito para diminuir sua inteligência. Foi consultar-se com Otto e este disse apenas:
“Com o Nelson nunca se sabe. Mas, pelo amor de Deus, não reclame! Agradeça os elogios e faça de conta que não leu as críticas!”
Certa noite, em casa de Hélio, Cláudio citou Homero por algum motivo e disse uma palavra em grego. Nelson ficou maravilhado e escreveu no dia seguinte em sua coluna:
"É o único brasileiro que leu Homero no original!”
Cláudio sentiu o peso da influência de Nelson quando, por causa disso, foi convidado a dar palestras sobre Homero em duas universidades. Mas a coisa chegou a um limite perigoso quando Nelson viu Cláudio com um vistoso suéter de “cashmere” azul-pavão que ele trouxera da Europa. Nelson atribuiu ao suéter um valor absurdo — 150 mil cruzeiros, que, na época, dariam para comprar um rebanho de ovelhas e fabricar um estoque inteiro de suéteres —e passou a usá-lo como referência monetária. O “suéter de 150 mil cruzeiros de Cláudio Mello e Souza” tornou-se também um personagem quase diário da coluna.
Certa manhã, Maria Urbana Pellegrino tomou um ônibus cujo trocador estava lendo a coluna de Nelson. O trocador comentou com o passageiro ao lado:
“Esse Cláudio Melo e Souza é um bom filho da puta! Comprando um suéter de 150 contos! Esse já está na minha lista!”
Maria Urbana ficou assustada e contou a Hélio, o qual advertiu Nelson de que estava pondo Cláudio em risco. E só então Nelson esqueceu Cláudio por uns tempos.
Agora era a vez de Otto seguir o próprio conselho. Tinha de fingir que não se importava de ver o seu nome nos anúncios, nos cartazes, nas críticas, na fachada do teatro, na boca dos personagens e da platéia. Otto podia não dizer nada, mas seu mal-estar chegou a Nelson através dos outros. Nelson se defendia:
“Mas o título da peça é a verdadeira estátua, o busto de corpo inteiro do Otto!”
Outros queriam saber se Otto iria brigar com Nelson. A briga nunca chegou a acontecer e Nelson também comentou:
“Assim é o mundo. Impotente de sentimento, o ser humano precisa ver o desamor por toda parte. Ninguém admite que o nome de minha peça é uma homenagem, apenas uma homenagem, uma cândida, límpida, inequívoca homenagem.
Não tão inequívoca. Em “Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária”, um milionário, doutor Werneck, oferece a Edgar, um simples continuo de sua empresa, a oportunidade de casar-se com sua filha, Maria Cecília, que acaba de ser estuprada por cinco crioulos num lugar deserto, talvez floresta da Tijuca. Defeito no motor, o carro parou, ela desceu, os sujeitos apareceram e já sabe. É preciso salvar as aparências, casá-la o quanto antes. E Maria Cecília é jovem e linda, as mulheres que saem na capa de “Manchete” não lhe chegam aos pés. Para completar, o intermediário de doutor Werneck — seu genro Peixoto, sujeito sem qualquer moral — oferece um cheque astronômico a Edgar, um “adiantamento” em relação ao que ele teria se topasse.
Muitos topariam, e na hora. Acontece que Edgar gosta de Ritinha, tão pé-rapada quanto ele e que, embora ele não saiba, sustenta a mãe louca e as três irmãs prostituindo-se. O dilema se dá entre a consciência de Edgar e uma frase de Otto Lara Resende que Edgar leu não sabe onde: “O mineiro só é solidário no câncer”. Era uma outra maneira de dizer, como Dostoiévski, que, se Deus não existe, tudo é permitido, ninguém precisa ter escrúpulos, moral, sentimentos, nada. Edgar quer e não quer acreditar na terrível frase de Otto. Mas, para todo lado que se vira, vê a frase sendo confirmada. Não é só o mineiro, mas todo mundo. Ninguém tem escrúpulos. Só no câncer. Conclui no final que o verdadeiro câncer é a frase de Otto — e que, se não acreditar nela, estará salvo.
Era natural que Otto se sentisse incomodado. Seu nome e sua suposta frase eram citados 47 vezes no texto. Imagine o efeito disso no espetáculo. Na primeira vez em que Edgar o menciona, na primeiríssima cena, Peixoto ainda pergunta:
“— Otto Lara? Um que é ourives?”
“— Ourives? Onde? O Otto escreve. O Otto! O mineiro, jornalista! Tem um livro. Não me lembro o nome. Um livro!”
A partir daí, nome e frase pontilham a ação como uma ladainha. Peixoto também adere à frase e passa a repeti-la, só que, para um canalha como ele, ela é a verdade irrespondível. O mineiro só é solidário no câncer. No terceiro e último ato, nome e frase eram mencionados dezoito vezes! O espectador saía do teatro com aquilo na cabeça. E não adiantava o próprio Edgar dizer que a frase era só uma imagem, que “mineiro” e ‘~câncer” eram metáforas.
Nem adiantaria a Otto jurar que nunca dissera aquilo — e que, como outras, a frase fora uma invenção de Nelson, atribuída a ele. Nunca se livraria dela e, um dia, chegaria a compará-la a um rabo de papel que Nelson lhe tivesse pregado. Além disso, como Otto sabia muito bem, podia ser que, num momento de distraída inspiração e nem que fosse de outra maneira, ele realmente tivesse dito a bendita frase.
Quando escreveu “Bonitinha, mas ordinária”, Nelson já estava firme com Lúcia, mas ainda não safra de sua casa com Elza. Não queria ir morar com Lúcia enquanto os pais dela não dessem a entender que, pelo menos, o toleravam. Nelson ia queixar-se a Otto e este não achava aquilo um câncer com o qual precisasse ser solidário:
“Você passou a vida convencendo a sociedade de que era um rinoceronte hidrófobo. E agora quer ser recebido na sala?”, vingava-se Otto.
Os pais de Lúcia não tinham o menor motivo para recebê-lo em seus salões. Como se não bastasse a imortal fama de “tarado”, havia agora também a agressão de “Bonitinha, mas ordinária”. Pela primeira vez numa peça de Nelson, o mundo grã-fino aparecia com destaque. E o que se via nele? Uma classe de devassos, prepotentes, de pessoas para quem o dinheiro comprava tudo, “até amor verdadeiro”. Na cena final e culminante do primeiro ato, Edgar chamava doutor Werneck, com todas as letras, de “Seu filho da puta!”, provocando orgasmos na platéia — em cuja boca o palavrão já estava maduro, louco para sair. Havia referências ao Country, ao Itanhangá — a todo o mundo dos pais de Lúcia. Não que Nelson estivesse se referindo precisamente a eles, mas não podia impedir que eles se sentissem ofendidos.
Nelson precisava de um intermediário, de alguém que intercedesse por ele junto a doutor Cruz Lima e dona Lidinha. Sua tentativa de conversar com a mãe de Lúcia também fora um desastre. Ela o chamara de tarado, imoral, sem-vergonha. Nelson ouvira tudo aquilo em magoado silêncio. Quando saíram, já na rua, Lúcia tentou aplicar gelo na situação:
“Dá o desconto, Nelson. Mamãe é uma alma pura.”
Nelson não conteve a gargalhada:
“Rá-rá-rá! A alma da tua mãe é mais suja do que pau de galinheiro!”
Quem poderia ser o intermediário — alguém que fosse dizer ao doutor Cruz Lima que Nelson não era o monstro que parecia ser? Nelson perguntou a Otto sobre Alce.u Amoroso Lima. Otto desaconselhou-o e, como era sabido, Nelson nunca tivera boas relações com Alceu. Na verdade, haviam rompido sem nunca se terem falado na vida, exceto por telefone. E fora um telefonema que precipitara o rompimento.
No fim dos anos 50, Nelson tentara uma aproximação com Alceu. Entre Alceu e Corção, que eram os dois líderes católicos do país, Nelson preferia Alceu. Corção era “esse católico apenas irritado, esse católico sem paixão”, que vivia atacando-o. Já Alceu gostara de “Vestido de noiva”, mas só — de “Álbum de família” em diante, só faltara chamar a polícia para tirá-lo de cartaz. (E, a respeito de “Álbum de família”, Alceu ficara por escrito ao lado da polícia.) Mas era um católico integral e, para Nelson, deveria ter “Deus enterrado em si como um sino”. Nelson perdoava até sua aberta simpatia por Hitler e Mussolini no começo da guerra. A propósito de “Senhora dos afogados”, Alceu mandara-lhe uma carta que terminava com a frase: “Ou você se converte ou você se suicida”. Nelson nunca a entendera: a que se converte um convertido?
Apesar de usar um cordão com um crucifixo no pescoço, que só tirava para tomar banho, Nelson não poderia ser considerado um católico. Não ia a missas, não cultuava santos e não fazia jejuns, exceto os exigidos pela úlcera. Mas sua religiosidade era evidente em sua obra e até incômoda para os seus mais íntimos no dia-a-dia. Não fora de brincadeira que, aos 23 anos, em 1935, chorara ao assistir à “Vida de Cristo” com Vicente Celestino no Teatro Recreio. Usava com freqüência a expressão “Deus me perdoe!”, o que talvez pudesse ser um expletivo, mas a sinceridade com que se despedia de todo mundo dizendo “Deus te abençoe” nunca foi posta em dúvida. E, aos materialistas, para quem a morte é o fim de tudo, dizia: “~ absurdo o sujeito se demitir da vida eterna, como se fosse um suicida depois da morte”.
O próprio Alceu admitiria, muitos anos depois, as tentativas que Nelson fizera de aproximar-se. Nelson lhe telefonava (religiosamente é o termo exato) todo Natal e Ano-Bom. Segundo Nelson contaria no futuro, incomodava-o que, sempre que ligava para Alceu para desejar-lhe felicidades “a si e aos seus”, Alceu respondesse de pronto: “Ah, Nelson, acabei de rezar por você! “. Todo ano, a mesma coisa. A Nelson intrigava essa oração em permanente plantão que o seu telefonema sempre vinha despertar. Nelson queria dizer a doutor Alceu que rezasse menos por ele, ou nem rezasse, mas que fosse seu amigo. Queria ser apenas seu amigo, queria ter a liberdade de contar-lhe que, em criança, recortava e armava os presépios de papelão que vinham no “Tico-tico”.
O caldo entornou num Natal por volta de 1960 quando Nelson deu o telefonema de praxe e Alceu, em vez de dar a resposta idem (“Estava rezando por você! “), suspirou:
“Ah, Nelson, você aí nessa lama!”
(Segundo a versão de Alceu, ele disse: “Então, Nelson, você sempre a remexer nessa lama das ruas?”.)
Nelson se ofendeu. Achou que Alceu, na sua “imodéstia de santo”, não tinha o direito de dizer aquilo. Pensou em perguntar-lhe de volta: “E os seus pântanos, como vão, doutor Alceu? E os seus sapinhos, as suas pererecas?”. Desligou com “até logo, passar bem”, e Alceu sentiu que dera um fora. Escreveu a Nelson dizendo que não era aquilo que queria dizer, que não o julgava pessoalmente “metido na lama das ruas”. Mas Nelson não o perdoou e, agora, Otto espantava-se de Nelson cogitar do sábio católico para torná-lo potável a doutor Cruz Lima e dona Lidinha.
A outra alternativa era dom Helder Câmara. Nelson pediu ajuda a Hélio Pellegrino. Hélio falou com dom Helder, explicou-lhe o que Nelson queria, dom Helder mandou-o telefonar. Nelson pediu a dom Helder que ele ligasse para Lúcia e fosse visitá-la em casa de seus pais. Aos olhos dos pais de Lúcia, seria como que uma bênção à união dos dois. (E de que importava que nenhum dos dois fosse solteiro? Já havia o precedente de que dom Helder intercedera para que o Colégio São Vicente de Paula aceitasse a matrícula de Diduzinho, filho de Didu e Tereza Souza Campos. E Didu, um dos dez mais elegantes do Brasil, era desquitado.) Segundo Nelson, dom Helder teria garantido a ele que o atenderia.
Efetivamente dom Helder telefonou para Lúcia, disse que rezaria por ela e recebeu doutor Cruz Lima e dona Lidinha em seu gabinete no Palácio São Joaquim. Não se sabe o que foi dito naquela reunião, mas Lúcia sentiu que seus pais voltaram ainda mais firmes na sua desaprovação a Nelson. Nelson ficou desapontado e, então, procurou dom Marcos Barbosa no Mosteiro de São Bento. Como padre, dom Marcos também não poderia aprovar uma união de desquitados, mas suas visitas a Lúcia fizeram com que doutor Cruz Lima e dona Lidinha ficassem um pouco menos intolerantes. A relativa aceitação de Nelson pelos pais de Lúcia, no entanto, só aconteceria depois (muito depois) que nascesse a prematura Daniela — e do drama que eles viveriam com ela.
A partir do momento em que Nelson saiu de casa e foi fazer uma escala na “sala íntima” do apartamento de sua mãe, aquilo configurava uma situação de fato. Estava agora com Lúcia, por mais que o bombardeio contra eles partisse de todas as direções: da família dela, de suas amigas — e, naturalmente, de Elza, que lutou por Nelson enquanto foi possível. Foram momentos difíceis, em que a própria Lúcia relutou e chegou a dizer-lhe:
“Pense bem, Nelson, se é isso mesmo o que você quer. Ainda está em tempo."
Quanto mais se formava uma maioria contra eles, mais Nelson queria desafiar essa maioria. Mas sua própria família recebeu Lúcia muito bem: ela foi admitida de saída no apartamento do Parque Guinle. E coisas engraçadas começaram a acontecer. Lúcia achou, por exemplo, que Nelson poderia ser aperfeiçoado. Metade de suas roupas foi dada aos pobres e, em seu lugar, foram surgindo as gravatas italianas de tricô, as malhas de “col roulé”, as calças de vinco impecável. Nelson foi obrigado a fazer regularmente o que não fazia nunca:
engraxar os sapatos. Os colarinhos de ponta virada ficavam agora no lugar, a poder de goma. Sua tradicional esculhambação saiu por uma porta do palco e, pela outra, entrou um janota que os amigos custaram a reconhecer.
E Nelson agora precisava caprichar porque, desde 1960, era uma celebridade em televisão. Começara na “Grande resenha Facit”, talvez a primeira “mesa-redonda” sobre futebol apresentada regularmente no mundo. Luís Mendes dera a idéia e Walter Clark, o garoto-prodígio da então poderosa TV Rio, a comprara. E por que não? A noite de domingo era morta na televisão. Um grupo de sujeitos discutindo futebol passionalmente após o jogo no Maracanã poderia dar certo. O patrocinador seria a “Facit”, a multinacional das máquinas de calcular e cujo presidente no Brasil, o sueco Gunnar Goransson, era Flamengo fanático. E o futebol ainda era um dos grandes assuntos nacionais.
Formou-se o time. Luís Mendes comandaria a mesa. Haveria um tricolor, Nelson Rodrigues; um rubro-negro, José Maria Scassa; um botafoguense, João Saldanha; um vascaíno, Vitorino Vieira; e um “imparcial”, Armando Nogueira. A mesa era desequilibrada porque Luís Mendes e Armando Nogueira também eram botafoguenses, mas não havia por que reclamar — o Botafogo de Garrincha, Didi, Nilton Santos, Quarentinha e Zagalo era metade do escrete brasileiro. (Nos anos seguintes, a balança penderia para o Fluminense com a entrada dos comentaristas internacionais, o espanhol Hans Henningsen e o francês Alain Fontaine, tricolores, e do ex-craque Ademir, identificado com o Vasco, mas secretamente Fluminense.)
Essa fórmula, cozinhada pelo produtor Augusto (“Gugu”) Melo Pinto, era melhor do que o próprio jogo que se discutia. Ou que se tentava discutir: enquanto Armando Nogueira falava sério sobre táticas e esquemas, Nelson — que fora ao Maracanã com ele e, à saída do estádio, perguntara: “Meu querido Armando Nogueira, o que é que nós achamos do jogo?” — transformava o debate num “potpourri” de humor. Para irritar os colegas que volta e meia se deslumbravam com o futebol europeu, Nelson referia-se ao “escrete húngaro do Armando Nogueira” — uma maneira de dizer que a grande seleção da Hungria de 1954 só existia na cabeça de Armando. A repetição constante da expressão irritou alguns amigos do comentarista, entre os quais o banqueiro José Luís Magalhães Lins, do Banco Nacional, em cujos empréstimos Nelson vivia pendurado.
José Luís pediu a Nelson que poupasse Armando. Nelson atendeu-o — e, a partir dai, passou a referir-se ao “ex-escrete húngaro do Armando Nogueira”.
As piadas de Nelson deixavam também o rubro-negro José Maria Scassa apoplético. Numa dessas, no ar, Scassa chamou-o de burro. Nelson não se perturbou: “Meu querido Scassa, eu sou mais inteligente do que você até dormindo!”. Ou numa noite sufocante de verão carioca em que se discutia a excursão do escrete à Europa durante o inverno. Zagalo, convidado da mesa, disse que o brasileiro estava habituado a jogar no frio. O comentário de Nelson provocou um estouro de gargalhadas que obrigou Gugu Melo Pinto a interromper o programa, porque ninguém parava de rir:
“O nosso Zagalo deixou o seu trenó lá fora, os seus cães esquimós, os seus sapatos de raquete, e veio aqui nos dizer que o brasileiro está acostumado a jogar no frio!”
Não era segredo para a mesa que Nelson não enxergava nada em campo e que sabia o nome de, no máximo, meia dúzia de jogadores do Fluminense. Mas faziam vista grossa àquela cegueira porque, às vezes, sua intuição os surpreendia. Como na primeira vez em que o videoteipe, então grande novidade, foi acionado para esclarecer um lance de jogo, em 1962. Num Fla-Flu, aquela tarde, o juiz Airton Vieira de Morais, o “Sansão”, deixara de marcar um pênalti contra o Fluminense. Na resenha, Scassa protestou contra o erro do juiz. Foi pênalti, não foi pênalti, e Luís Mendes mandou rodar solenemente o teipe. Ao vê-lo, todos concordaram: pênalti claro. Menos Nelson. Com seu senso teatral, pediu: “Câmara em mim!”, e decretou:
“Se o videoteipe diz que foi pênalti, pior para o videoteipe. O videoteipe é burro!”. Uma pausa e completou: “É só”.
O que na época pareceu uma heresia — desafiar o infalível videoteipe —não demorou a confirmar-se: dependendo do ângulo da câmara, o teipe de fato não era de se pôr a mão no fogo. Era burro.
Depois da resenha, os participantes saíam da TV Rio, no Posto Seis, e iam jantar na “Churrascaria do Leme”, onde, segundo Nelson, chegavam com um “apetite de javali de mandíbulas sanguinolentas”. Os colegas sabiam da obsessão erótica de Nelson em seu teatro e em “A vida como ela é...”, mas tinham se habituado a vê-lo, ao vivo, como um sujeito mais ou menos sem sexo. Até que sua namorada começou a ir buscá-lo na churrascaria e eles se perguntaram o que ele tinha para encantar aquela boneca chamada Lúcia.
Na noite de 19 de junho de 1963, Lúcia estava em casa de seus pais no Leblon com a irmã, Maria Lídia. Nelson fora a um jogo noturno no Maracanã e doutor Cruz Lima e dona Lidinha tinham ido à inauguração da boate de Ibrahim Sued, a “Top Club”, na praça do Lido. Lúcia não se sentia bem — as pressões estavam dando-lhe nos nervos e cada telefonema era um motivo de susto e aflição. Estava grávida de seis meses e sua própria gravidez era um motivo de preocupação. Um ano antes tivera mononucleose. Quando se vira grávida, fizera exames e já não havia traços da virose. Mas Lúcia tivera um pós-parto complicado em sua primeira gravidez — sofrera nada menos que uma embolia pulmonar. Seu pai temia que acontecesse de novo e, como se não bastassem os riscos, era contra aquele novo filho.
Uma de suas clientes atrevera-se a dizer-lhe:
“Eu tenho nojo de sua filha.”
Afrontando suas próprias convicções, doutor Cruz Lima chegara a insinuar para Lúcia a conveniência de tirar a criança. Lúcia não admitiu tocar no assunto. E Nelson, ferozmente contrário ao aborto, não se achava no direito de palpitar, mas, no que dependesse dele, Lúcia teria seu filho. Se fosse menina, como queriam, se chamaria Daniela. Os dois foram corajosos — mas ninguém estava preparado para o que viria.
Aquela noite, por causa de um telefonema sem importância que a assustou, a bolsa amniótica de Lúcia se rompeu. O líquido começou a escorrer, quase jorrar. Lúcia e Maria Lídia entraram em pânico. Todos que poderiam ajudá-la estavam longe dali. Houve um corre-corre pela casa, enquanto ela perdia água. Conseguiram acordar seu irmão, João Carlos, de dezessete anos. Este olhou para Lúcia e perguntou:
“Mas isso não é xixi?”
Quando convenceu-se de que não era, vestiu-se sobre o pijama e saiu desvairado pelas ruas, em busca de um táxi, para buscar seus pais na praça do Lido. Maria Lídia ligou para uma tia que morava ali perto. Ela perguntou candidamente:
“Já chamaram o médico?”
Não. Não lhes tinha ocorrido. Chamaram-no e ele chegou quase junto com os pais. Lúcia foi posta de repouso. Doutor Cruz Lima achou que era caso de correr para o hospital e operar. O médico não considerou tão grave. Essas coisas acontecem, a criança era muito pequena, o líquido iria recompor-se. Lúcia tinha só de repousar. E Lúcia só foi para a casa de saúde São José, no Humaitá, na tarde do dia seguinte.
Nelson foi avisado de manhã. Quando chegou à casa de saúde, os pais de Lúcia o cumprimentaram friamente. Ela já fora levada para a sala de parto. Perdeu-se tempo precioso tentando induzir o parto, quando poderiam ter feito logo a cesariana. Daniela nasceu à noite, com 1,5 quilo, e não queria respirar. Seu cérebro ficou minutos fatais sem oxigenação. Tudo era prematuro em Daniela: baço, fígado, pulmões. Finalmente conseguiram fazê-la respirar, mas, pela manhã, ela voltou a estar clinicamente morta. Uma junta de médicos, entre os quais doutor Cruz Lima, conseguiu salvá-la. Na realidade, conseguiram que ela não morresse. Poucos dias depois, ainda na casa de saúde, Daniela sofreu uma espécie de icterícia e tiveram de trocar-lhe o sangue.
Uma semana depois, Lúcia pôde levar Daniela para casa. Mas não para o apartamento em que iria morar com Nelson em Ipanema. Ainda era muito arriscado. Foi com ela para a casa de seus pais, onde uma enfermeira e o próprio doutor Cruz Lima poderiam assisti-la. Durante os três ou quatro meses seguintes, Nelson continuou em Laranjeiras. Quando ia visitar Daniela, os pais de Lúcia retiravam-se ostensivamente para outro aposento, a fim de não vê-lo. Finalmente, Lúcia e Daniela puderam ir com Nelson para o apartamento da Visconde de Pirajá. E só então Nelson conheceu as dimensões reais do drama.
Daniela passaria todo o seu primeiro ano de vida numa tenda de oxigênio, com horríveis crises respiratórias. Desde o primeiro momento apresentou má circulação nas pernas, o que lhe provocava câimbras lancinantes. Nelson e Lúcia ainda não sabiam, mas a menina atravessaria os seus primeiros anos praticamente sem dormir, chorando de forma enlouquecedora, com dores que poderiam ter todas as origens. Devido à paralisia cerebral, jamais iria andar ou articular um movimento. Também seria muda. E irreversivelmente cega.
Mas Lúcia e Nelson também não sabiam disso. A cegueira de Daniela foi comunicada primeiro a Lúcia pelo doutor Abreu Fialho. Ela se ofereceu para doar um de seus olhos à filha. Novos exames foram feitos e, dias depois, o médico concluiu que o sacrifício de Lúcia seria inútil. No consultório, quando Abreu Fialho liquidou suas esperanças, Lúcia começou a tremer e tiritar de forma descontrolada. As enfermeiras deram-lhe calmantes e ela se deixou ficar mais de uma hora por ali, tentando recuperar-se. Não queria que Nelson a visse naquele estado. Lúcia pediu a Abreu Fialho que, pelo menos por enquanto, não contasse a seus pais, e muito menos a Nelson, que Daniela nunca poderia enxergar.
Mas Nelson rapidamente começou a perceber. Os olhos azuis de Daniela não tinham vida — eram como os dos cegos que ele descrevera em “Anjo negro”. Sentiu que Lúcia e doutor Abreu Fialho estavam escondendo-lhe alguma coisa. Pediu ao médico que viesse ver Daniela. Abreu Fialho passou em sua casa numa noite de domingo, a poucos minutos de Nelson ir para a TV Rio, para participar da “Resenha Facit”. Examinou a menina, ofereceu carona a Nelson até o Posto Seis e, no brevíssimo caminho, com todo o tato de que foi capaz, deu-lhe a notícia. Embora Nelson já estivesse esperando pelo pior, o choque deixou-o imobilizado, sem reação.
Nelson entrou diferente na TV Rio aquela noite. Luís Mendes, José Maria Scassa e outros notaram que havia algo estranho com ele. A única pessoa que Nelson levou para um canto e com quem ficou aos sussurros por longos minutos foi João Saldanha. Saldanha também saiu abatido da conversa. O programa começou e Nelson participou apaticamente. Saldanha deu-lhe a carona de volta em seu fusca e não se sabe do estado de Nelson no carro do amigo. Mas, assim que entrou em casa, desfez-se de todas as defesas.
Começou a chorar desesperadamente e seus soluços podiam ser ouvidos em todo o edifício. Estava fora de si. Entre os espasmos de choro, só conseguia fôlego para chamar o médico de “burro” e dizer que ia matá-lo.
Daniela transformou a vida de todos ao seu redor. A mãe de Lúcia, dona Lidinha, personagem de colunas sociais, subiu de joelhos os 365 degraus da escadaria da Igreja da Penha para que a menina voltasse a enxergar: Uma senhora de Minas ofereceu sua córnea a Daniela, sem saber que era inútil. Hélio Pellegrino foi padrinho de Daniela e, com isso, tornou-se compadre de Nelson.
Dom Marcos Barbosa foi visitar a criança e a mãe. Os pais de Lúcia finalmente “aceitaram” Nelson. E, durante anos, Nelson observou Lúcia, todas as noites, ajoelhada com Daniela dentro da tenda de oxigênio, massageando suas pernas sempre geladas pela má circulação. Algumas vezes o próprio Nelson a rendeu, ninando a levíssima Daniela a noite inteira.
Maria Luisa, a filha mais velha de Lúcia, nunca viu Nelson. Quando seus pais se separaram, ela fora viver com os avós paternos. Estes permitiram que a garota visitasse Lúcia, desde que esta não a misturasse com Nelson. Nelson lamentou a situação, mas compreendeu. Quando chegava da rua e via o carro com chofer estacionado na porta do edifício, sabia que Maria Luisa estava com Lúcia. Então ia fazer hora tomando café no botequim, esperando que a menina saísse. E só então entrava em sua casa.
Moravam num apartamento de sala e dois quartos, modesto para os padrões a que Lúcia estava habituada, mas que ela se encarregou de pôr ao seu jeito. Tudo muito arrumadinho, cortinas, pequenos objetos, réplicas do Aleijadinho. Recebiam poucos amigos, mas com esmero: Maria Augusta e Cláudio Mello e Souza, Fernanda Montenegro e Fernando Tôrres, Maria Urbana e Hélio, Helena e Otto Lara, um casal de cada vez. Os jantares eram à francesa e à luz de velas. Se alguma visita manifestasse o desejo de ver Daniela, Lúcia a conduzia ao quarto da menina. Mas quem a visse uma vez não gostaria de repetir a experiência.
Nem tudo era tão triste. A oposição e a adversidade uniram Nelson e Lúcia e ele diria várias vezes que os dois haviam “fundado a sua solidão”.
Ela completou a sua missão de pô-lo na linha. Agora já não eram apenas os ternos que ela obrigava Nelson a fazer no “Dom Vicente”. Tentou também que ele abolisse os suspensórios, ajustando-lhe as calças na cintura. Mas, sem o cinto, as calças caíam na rua e, com isso, voltaram os suspensórios. Convenceu-o a usar óculos, mas só por algum tempo — pouco depois os óculos “sumiram” e Nelson não mandou fazer outros, preferindo continuar cegueta. Em compensação, ensinou-o a tomar banho direito, usando escova e bucha para esfregar as costas, coisa que nunca lhe tinha ocorrido. Lúcia entrava no chuveiro com ele para ajudá-lo e às vezes tomavam banho juntos.
Nelson não deu pensão a Elza. Ela continuava com seu salário no IAPETEC e tinha os filhos. Joffre queria fazer cinema. E Nelsinho era agora o motorista de Nelson — trocaram o “De Soto” por um “fusca” e era neste que Nelsinho o transportava para o jornal, a televisão, o teatro ou para a casa de dona Maria Esther. A separação de seus pais tornara-o, curiosamente, mais próximo de Nelson.
- 1965 – O DESESPERÔMETRO
Nelson Rodrigues é um perigo a ser evitado”, escreveu o crítico Alex Vianny na revista “Senhor” em fevereiro de 1963. Em perigo agora estava não a religião ou a família brasileira, mas o cinema nacional.
Alex Vianny ficou assustado como sucesso comercial de “Boca de Ouro”, o filme dirigido por seu amigo Nelson Pereira dos Santos — mas que, na verdade, pertencia muito mais a Jece Valadão, que o produzira e estrelara. Não era um filme “de autor” ou “participante”, como os outros filmes do engatinhante “Cinema Novo”. Era uma encomenda.
Jece Valadão contratara Nelson Pereira dos Santos como poderia ter contratado Watson Macedo. Se preferira o diretor de “Rio quarenta graus”, era porque este era melhor. Mas não queria brilharecos ao estilo de Ruy Guerra em “Os cafajestes”, que ele, Jece, também produzira no ano anterior. Queria a peça de Nelson como ela era, bem fotografada, com o mínimo de adaptações e zero de cinemanovices. Nelson Pereira dos Santos aceitara pelo dinheiro — precisava dele para rodar “Vidas secas”, um projeto que vinha adiando por falta de fundos. Para Alex Vianny, cineasta bissexto, não era vergonhoso trabalhar por encomenda. Ele próprio filmaria qualquer coisa que o “Partidão” pedisse. Mas Nelson Rodrigues nunca. Nelson Rodrigues era um “mercador da pornografia e cáften do desespero humano”, criador de um “fedorento mundinho”.
O que preocupava Alex Vianny era que, na esteira do sucesso de “Boca de Ouro” em 1963, já se anunciavam as filmagens de “Bonitinha, mas ordinária”, “Asfalto selvagem” e “Anjo negro”. Nelson Rodrigues vinha infeccionar o novo cinema brasileiro com seu “desesperômetro” pequeno-burguês e desviá-lo do caminho reto, que era o de filmar cangaceiros e favelados. Em sua crítica na “Senhor”, Alex Vianny insinuou que torceria pelo fracasso desses filmes na bilheteria.
O cinema brasileiro estava descobrindo um filão: Nelson Rodrigues. Não que antes não quisessem filmá-lo. Mas o medo da censura paralisava os produtores antes que eles pingassem uma palavra no papel. “Meu destino é pecar” fora rodado em 1952 pela Maristela, uma espécie de Vera Cruz de tanga, e tivera problemas. E nem era Nelson Rodrigues, mas “Suzana Flag”, um chá de hortelã. Não se podia dizer a palavra “amante” no filme, por exemplo. Tinha de se dizer “amiga”. Com isso, o festival de adultérios da história virara uma ação entre amigos.
Até 1963, o cinema só usara Nelson como dialoguista. Em 1950 ele escrevera os diálogos de “Somos dois”, um filme com Dick Farney, dirigido por seu irmão Milton. Joffre, seu filho, então com nove anos, fazia uma “ponta” como o irmão da mocinha e seu cachê fora um saco de bolas de gude. Em 1961 Nelson dera alguns palpites no roteiro de Jorge Dória para “Mulheres e milhões”, um filme de Jorge Iléli cuja história era parecida com a de um dos filmes favoritos de Nelson, “O segredo das jóias”, de John Huston. E, em 1962, Nelson passara uma caneta nos diálogos de “Eu sou Pelé”, biografia romanceada do próprio, dirigida por Carlos Hugo Christensen. Tudo escrito às pressas, por caraminguás, para sair do vermelho a que vivia condenado. Jamais alguém lhe propusera rodar uma peça sua, com todos aqueles recursos que haviam produzido um “Luzes da ribalta”, um “Rocco e seus irmãos”, filmes que adorava — ou “La Violetera”, com Sarita Montiel, outro que ele tinha visto umas dez vezes.
Gilberto Perrone fora o produtor de “Mulheres e milhões”, um baita sucesso de público. Jece Valadão pegou o dinheiro que ganhara com “Os cafajestes” e cotizou-se com Perrone para fazer “Boca de Ouro”. O cinema brasileiro tornara-se o terror dos festivais internacionais: ganhava uma palma, um urso ou um leão de ouro a cada quinze minutos. No caso de “Boca de Ouro”, Jece Valadão dispensava os ursos ou leões — queria um filme comercial. Nelson Pereira dos Santos veio dirigir e deu conta do recado com carinho. Com “Boca de Ouro” dentro da lata, Valadão vendeu sua parte para Jarbas Barbosa e usou o dinheiro para produzir “Bonitinha, mas ordinária” em 1963.
Mas não o produziu sozinho. Parte do dinheiro foi levantada por Joffre, com o aval de Nelson, junto ao Banco Nacional de José Luís de Magalhães Lins. O próprio Jece dirigiu “Bonitinha, mas ordinária” em parceria com J. P. de Carvalho, e deixou que este assinasse sozinho. O nome de Otto Lara Resende também foi eliminado, como que por encanto, do título. Mas não da história e nem dos diálogos. E, como o filme foi levado no Brasil inteiro, Otto, por onde quer que passasse, tinha de mostrar a carteira de identidade para provar que existia, que não era apenas um personagem da imaginação de Nelson Rodrigues.
“Bonitinha, mas ordinária” no cinema foi visto por dois milhões de espectadores — o que permite calcular as multidões que abordaram Otto na rua, o apalparam e farejaram. O filme rendeu muito dinheiro, mas não para Joffre. Desta vez foi ele que vendeu sua parte para Jece Valadão, pagou o banco e foi para a Itália estudar cinema. Voltou em 1964, disposto a tornar-se o Franco Cristaldi ou o Carlo Ponti brasileiro — o produtor que iria fazer as pazes do cinema “de arte” com a bilheteria. Sua primeira idéia era filmar “Senhora dos afogados” com direção de Glauber Rocha. Grande idéia. Levantou o dinheiro com José Luís Magalhães Lins e foi à luta.
Glauber, ainda fumegante pelo explosivo sucesso de “Deus e o diabo na terra do sol”, aceitou na hora. Assinou o contrato e, bem ao seu estilo, só depois é que foi ler a peça. E, ao ler, sentiu que não era o material para ele.
“Joffre, me perdoe, mas me libere”, disse Glauber. “Vai dar um choque de autores. Seu pai é autor e eu também sou. Não dará certo.”
Perdida a chance de se fazer o melhor filme brasileiro de todos os tempos, Joffre viu-se com uma idéia na cabeça e o dinheiro na mão, mas sem um diretor para realizá-la. “Pegue Leon Hirszman ou Eduardo Coutinho”, soprou-lhe Luis Carlos Barreto. Num encontro casual com Joffre no “Far-West”, um botequim defronte à TV Rio, Fernando Tôrres e Sérgio Britto falaram-lhe do seu desejo de fazer Nelson no cinema. Só que a peça que preferiam era “A falecida”. E então acertou-se tudo. Leon Hirszman seria o diretor, Eduardo Coutinho o roteirista e Fernanda Montenegro — quem mais? — seria Zulmira, a mulher que não tem onde cair morta, mas que sonha com um caixão de luxo.
O filme ganhou o inevitável prêmio em festival, mas foi um fiasco comercial de dimensões cataclísmicas. E olhe que Fernanda Montenegro realizou em “A falecida” aquela que ainda hoje é considerada a maior interpretação feminina do cinema brasileiro. Seu desempenho enganou até os figurantes na seqüência do velório, rodada na casa de uma senhora portuguesa no Estácio.
Chico de Assis, do “Teatro de Arena”, havia preparado os vizinhos da portuguesa: convenceu-os de que iriam assistir a um velório de verdade, com uma morta de carne e osso no caixão, e conclamou todo mundo a ir ver a defunta. O rosto de Fernanda Montenegro ainda não era tão conhecido na Zona Norte do Rio. Durante horas, dezenas de pessoas desfilaram diante do caixão em que ela se deitava, imóvel, de olhos fechados, fazendo força para não respirar entre aqueles círios, cruzes e flores. Ninguém parecia ver nada de anormal na presença da câmara, dos refletores e de Leon Hirszman gritando “Corta!”, “Ação!” e “Olha a luz, Zé Medeiros!”.
A única figurante que relativamente destoava era a própria portuguesa, rija senhora de seus quase oitenta anos. Ela sabia que se tratava de um filme, mas ajoelhava-se ao pé do caixão e sussurrava para Fernanda Montenegro como se temesse despertá-la da morte:
“Não faça isso, dona Fernanda. Que pecado! Não se brinca com essas coisas!”
Mas, em seguida, como Fernanda não respondesse, cofiava os bigodes, desfiava o terço e voltava a rezar. Maior realismo, impossível.
Tudo teria dado certo se a idéia de um filme “de arte”, sombrio e cerebral, perfeita para “Senhora dos afogados”, não tivesse contaminado “A falecida” — afinal, a primeira “tragédia carioca” de Nelson, quase uma comédia. Todo o humor e o escracho da história foram desidratados por Leon Hirszman, como Nelson suspeitou que iria acontecer no dia em que compareceu às filmagens e viu alguns atores dando empostações de mordomo inglês aos personagens. Quando o filme ficou pronto, Nelson foi assisti-lo com Joffre no velho estúdio da Líder, em Botafogo.
“Espeto, meu filho. Está muito preto-e-branco”, comentou baixinho.
“Mas o filme é em preto-e-branco, papai”, respondeu Joffre.
“Eu sei, mas está preto-e-branco demais” — sua maneira de dizer que “A falecida” estava mais “sério” do que um filme sueco.
Como aconteceria com todos os filmes baseados em suas peças (enquanto eles estivessem em cartaz), Nelson deu declarações de que teria “gostado” de “A falecida”. Mas, na verdade, detestou-o. E o público também.
Se o fracasso de “A falecida” tivesse se limitado a algumas bolas pretas no “Conselho de cinema” do “Correio da Manhã”, ninguém sairia muito machucado. Mas o rombo que provocou nas finanças de Nelson e Joffre iria obrigar Elza a vender a casa da rua Agostinho Menezes e o apartamento em Teresópolis. E faria Nelson perder o apartamento que comprara para Lúcia e Daniela no Leblon.
“Todas as minhas angústias passaram a ter um só nome: ‘A falecida’ “, ele disse a Lúcia. “Estou endividado até as encarnações futuras.”
“Nelson Rodrigues em novela de televisão, só de madrugada!”, decretou o juiz de menores Cavalcanti Gusmão.
Era uma monótona perseguição. Em 1963, o simples nome de Nelson seria uma ameaça ao tecido social se aparecesse na tela da TV como autor de uma novela. E principalmente da TV Rio, a Globo do seu tempo. Mas Walter Clark e o pessoal do “Teatro dos sete” queriam apenas inovar: produzir novelas brasileiras, para aproveitar o insuportável sucesso dos dramalhões cubanos que sustentavam a televisão. “O direito de nascer”, de Félix Cagnet, já estava no ar há mais de um ano, mas um dia teria de acabar — nem mamãe Dolores suportaria sofrer tanto. E, para Walter, se se tratava de produzir uma novela nacional, Nelson Rodrigues era a escolha óbvia para escrevê-la.
Os dois eram agora gêmeos como duas chamas e Nelson dizia conhecer Walter Clark desde que ele usava chuca-chuca. Estava exagerando. Walter tinha 24 anos quando Nelson foi para a TV Rio com a “Resenha Facit” em 1960. E Nelson desamou-o com um minuto de bola em jogo. Achou-o um “Mozart aos oito anos, sem o talento de Mozart”. Via-o dando ordens, criando e destruindo programas, revirando a televisão pelo avesso, as mulheres se agarrando às suas pernas, implorando para que ele as seduzisse. Como se pode gostar de alguém assim? Mas o pior em Walter Clark era o seu carro: um “Thunderbird” suntuoso, equipado com cascata artificial e filhote de jacaré. Nelson se perguntava de onde vinha tanto poder. Só depois descobriu que o próprio Walter Clark se dera esse poder; viu nele uma espécie de Ziembinski eletrônico e passou a admirá-lo. Ficou ainda mais feliz quando descobriu que Walter o admirava, este sim, desde que usava chuca-chuca.
Nelson escreveu para Walter Clark a primeira novela brasileira de todos os tempos: “A morta sem espelho”. Ele não lhe impusera limites, mas Nelson sabia onde pisava: “A morta sem espelho” raiava uma possível zona incestuosa, mas só se o telespectador prestasse muita atenção. O que abundavam eram os adultérios, uma realidade cotidiana nas melhores famílias. Um dos momentos mais chocantes era quando Ítalo Rossi, no seu eterno papel do marido traído, sacava um gigantesco revólver e dizia para sua mulher, Isabel Teresa: “Acorda pra morrer!”. Mais singelo do que isso, só “A hora do pato”.
Mesmo assim, era demais para 1963 às oito e meia da noite. O juizado de menores mandou empurrar a novela para onze e meia — um horário em que não apenas todos os televisores já tinham sido postos para dormir como os funcionários das estações estavam apagando as luzes para ir embora. E “A morta sem espelho” era um investimento muito grande para se deixar matar por essa medida. A direção era de Sérgio Britto. O elenco tinha Fernanda Montenegro, Fernando Tôrres, Ítalo Rossi, o próprio Sérgio Britto e a estréia de Paulo Gracindo como ator de TV. A música era de Vinícius de Moraes. Quem mais eles queriam? O ministro San Thiago Dantas como figurinista?
Walter Clark pediu socorro a dom Helder. Garantiu-lhe que Nelson se moderara e convidou-o a ver alguns capítulos já gravados na sala de vídeo da TV Rio. Chamou ainda duas proeminentes senhoras católicas para opinar e completou a platéia com parte do elenco, inclusive Joffre, que fazia um pequeno papel como ator. Nelson não queria ir — depois do episódio em que pedira a intervenção de dom Helder junto aos pais de Lúcia, tomara alergia ao bispo auxiliar do Rio. Mas foi. E ainda ouviu de dom Helder:
“Fazendo concessões, Nelson?”
“Não, dom Helder. Quem faz concessões é o gênero, não eu”, respondeu.
Dom Helder assistiu aos capítulos, fez “tsk, tsk” para algumas cenas e disse a Walter que não achava aquilo aconselhável para um horário tão nobre. Sugeriu que jogassem a novela para um pouco mais tarde. Sem seu principal trunfo, Walter desistiu de lutar pelo horário das oito e conseguiu que a censura a liberasse para as dez horas. Mas era um horário tão ingrato quanto o das onze e, dois meses depois, pediu a Nelson que casasse o galã com a mocinha ou matasse todo mundo, mas que pusesse um fim à história.
Estava claro que o grande problema era o nome de Nelson. “Asfalto selvagem”, que Jece Valadão filmara aquele ano contando a primeira parte da história de Engraçadinha, com Vera Viana no papel, fora proibido para menores de 21 anos. (E, depois de 1º de abril de 1964. seria definitivamente interditado.) Na televisão a coisa era até pior. Qualquer novela assinada por Nelson faria com que os censores se sentissem de sapatilhas sobre brasas. Assim, na sua novela seguinte, “Sonho de amor”, em 1964. o nome de Nelson apareceu, mas ela foi anunciada como “uma adaptação de ‘O tronco do ipê’, de José de Alencar”.
Os militares estavam agora no poder, o marechal Humberto de Alencar Castello Branco tornara-se presidente e seus biógrafos já tinham conseguido descobrir-lhe um remoto parentesco com José de Alencar. Talvez por isso “Sonho de amor” tenha ido placidamente ao ar naqueles meses de abril e maio de 1964 — embora Nelson, que nunca lera “O tronco do ipê”, só tenha aberto o livro para saber quais eram os nomes dos personagens. Ou talvez porque os censores também nunca tivessem lido o primo do marechal.
E a terceira e última novela de Nelson, “O desconhecido”, só foi exibida em julho e agosto daquele ano, com direção de Fernando Tôrres e grande elenco (Nathalia Timberg, Carlos Alberto, Jece Valadão, Joana Fomm, Vera Viana, Aldo de Maio, Germano Filho), depois de uma hilariante negociação de Walter Clark com o general Antônio Bandeira, chefe da Censura. Walter tentou vender-lhe Nelson como um homem de posições conhecidas, um anticomunista convicto, simpático à “Revolução”. Contou-lhe que, no dia 1º de abril, tinham assistido juntos, da varanda da TV Rio, à tomada do forte de Copacabana, e Nelson até comentara:
“Essa revolução está sendo feita a tapa.”
Como um homem como ele poderia ser interditado?, perguntou Walter. O militar cedeu, mas resmungou:
“Esse Nelson Rodrigues ainda não me convenceu.”
“Li três páginas de ‘Toda nudez será castigada’ e o personagem principal me repugnou”, declarou Gracinda Freire a “Fatos e Fotos” em 1965. “Nelson Rodrigues é o maior comerciante do teatro. É o dono absoluto da indústria do sensacionalismo.”
“Li e recusei”, justificou-se Tereza Rachel na mesma revista. “Não por uma questão de puritanismo, mas de categoria. A peça é ruim.”
Outra atriz disse a Cleyde Yáconis, quando soube que esta havia ficado com o papel:
“Não sei como você tem coragem. Eu não faço no palco um personagem que finge que lava a xoxota na bacia!”
Nelson tinha todos os motivos para sentir-se como um cristão entre os leões. Agora não eram apenas a esquerda, a direita, os críticos, a censura, seus sogros e alguns padres que viam nele uma réplica de galocha e suspensórios do “Monstro da lagoa negra”. Era a própria categoria teatral ou, pelo menos, as atrizes a quem ele oferecera o papel de Geni em sua nova peça, “Toda nudez será castigada”. Nenhuma delas queria interpretar a prostituta que se casa com um viúvo, tem um caso com o filho deste e corta os pulsos para morrer.
O papel de Herculano, o viúvo, também parecia maldito. Nelson chegara a convidar Rodolfo Mayer. Mas seu ex-vizinho na rua Agostinho Menezes não quis conversa:
“Se quiserem, podem me chamar de covarde, mas não tenho coragem de aceitar esse papel.”
Todos temiam a opinião do público e ninguém queria saber do argumento de Nelson:
“A peça é uma cambaxirra. Não tenho culpa se o espectador resolve projetar em mim a sua própria obscenidade.”
Mas o que realmente doía em Nelson era que “Toda nudez será castigada” fora uma encomenda de Fernanda Montenegro; ela lera a metade do primeiro ato e se recusara a fazê-la. Alegara gravidez — e estava mesmo grávida, de seu filho Cláudio. Mas Nelson achava que, depois que tivesse seu filho, nem assim Fernanda aceitaria fazer a peça.
“Você nos prometeu uma comédia, Nelson, e isso é uma tragédia”, disse Fernanda.
“Mas isso é a comédia humana, minha flor!”, disse Nelson.
“E onde já se viu o Herculano dar dezessete trepadas em menos de 72 horas?”
“E a poesia, Fernanda?”
Nelson só não rompeu com Fernanda porque ela deu diversas entrevistas defendendo a peça: “Se disserem que a peça escandaliza, Nelson se sentirá realizado. Mas não admito que se diga que a peça é ruim”, ela falou a “Fatos e Fotos”.
A carreira de “Toda nudez será castigada” — estréia no dia 21 de junho cortada por aplausos em todas as cenas individuais, ovação de pé ao fim do espetáculo e, a partir dai, seis meses seguidos no Teatro Serrador e excursão pelo Brasil — pode ter feito com que algumas daquelas atrizes se arrependessem de seu julgamento. Para Nelson, foi uma vingança com sabor de pitanga — doce, mas com um travo de azedume.
Não tão doce, no entanto, que o fizesse esquecer a montanha de problemas com que se debatia. Havia o drama cotidiano de sua filha Daniela, condenada a viver como uma planta pelo resto de seus dias. Diante deste, todos os problemas eram menores, mas ele tinha também as dívidas de “A falecida”. E, precisamente no ano em que o filme foi lançado, 1965, e se esperava que se pagasse, Nelson comprara um apartamento de quatro quartos e duzentos metros quadrados num prédio em construção na rua Timóteo da Costa, no Leblon. Mais uma vez tomara dinheiro com José Luís Magalhães Lins — mas grande parte dele evaporara-se para saldar a hemorragia de dívidas daquele filme. E, agora, um ano depois, Nelson estava exatamente um ano atrasado no pagamento das prestações.
Com medo de perder o apartamento, Nelson pediu a Wilson Figueiredo que lhe conseguisse um financiamento no BNH, onde Wilson tinha também um emprego. Wilson podia ser poeta, diretor do “Jornal do Brasil” e personagem de “Asfalto Selvagem”, mas não tinha poderes para sair cavando financiamentos de um minuto para o outro. E, além disso, o BNH estava passando por uma de suas crises crônicas. Nelson então tentou convencer Wilson a comprar-lhe o apartamento — a essa altura pronto, nas chaves. Wilson não queria, já tinha onde morar, estava satisfeito. Nelson insistiu em que Wilson morava mal, morava pessimamente, seu apartamento era menor do que uma casa de cachorro — o que não era verdade. No dia do jogo Brasil x Portugal pela Copa de 1966, um corretor de imóveis subiu ao “Jornal do Brasil”, tirou Wilson da sua concentração pela “pátria em chuteiras” e arrastou-o para ver o apartamento de Nelson.
Wilson entregou os pontos. O que, aliás, não era tão difícil: Nelson devia um ano de prestações, mas prestações congeladas, sem juros ou correção. Wilson podia assimilar facilmente a dívida e continuar pagando o que restava. Fez isso. Nelson livrou-se da divida, sobraram-lhe uns amendoins e ele ficou tão grato a Wilson que passou a citá-lo em suas colunas como proprietário de um apartamento digno do xá da Pérsia, com “torneiras de ouro”, das quais escorria champanhe. Uma velha tia de Wilson acreditou e ligou-lhe de Belo Horizonte para perguntar se precisava levar essa vida de milionário.
Mas nem tendo se livrado da divida Nelson sentiu-se desapertado. A bagunça de sua vida financeira era indescritível: cobrava mal, levava “canos”, não ia receber o que lhe deviam, deixava contas sem pagar e tomava dinheiro no banco por conta de trabalhos que ainda deveria cumprir. Por mais que produzisse, estava sempre falido. Houve um momento em que Lúcia começou a fazer tapeçarias de parede para ajudar na receita. Em 1966 Nelson escrevia diariamente duas colunas esportivas, a de “O Globo” e a do “Jornal dos Sports”; “A vida como ela é...”, também para o jornal de seu irmão; fazia pelo menos quatro aparições semanais em televisão — agora na TV Globo, para onde fora com Walter Clark; e sujeitara-se a vender seu nome como “tradutor” dos romances de Harold Robbins, para a editora Guanabara de Alfredo Machado.
A idéia fora de Machado, para ajudar Nelson a faturar um dinheirinho fácil. Mas era também muito conveniente para sua editora: ao ler “Tradução de Nelson Rodrigues” com destaque na capa de livros de Harold Robbins, como “Os insaciáveis”, “Os libertinos” e “Escândalo na sociedade”, o comprador via naquilo uma garantia. Sabia que era literatura “pesada”. Como poderia imaginar que Nelson era o mais acabado monoglota da língua portuguesa — senhor de todos os mistérios dIa sua língua e incapaz de dizer gato em qualquer outra?
A principal fonte de renda de Nelson era agora a televisão. Quando Walter Clark fora convidado a trocar a TV Rio, dona da audiência carioca, por uma TV Globo que ainda se arrastava na “lanterninha”, tinha sido a Nelson que ele perguntara sobre Roberto Marinho. Nelson contou-lhe a história da tuberculose e de como quase tinham morrido juntos no barco em chamas. Walter considerou aquilo uma espécie de aval, trocou de estação e levou uma equipe inteira para a Globo, inclusive Nelson. Foi um grande negócio para todo mundo, exceto para a TV Rio, que acabou. Nos anos seguintes, na Globo, Walter teria várias oportunidades de demonstrar em espécie sua gratidão por Nelson.
Nelson pedia-lhe adiantamentos que só poderiam ser pagos com descontos no salário. Ao fim do mês, Nelson dizia a Walter que não poderia dar-se ao luxo de sofrer o tal desconto. Walter então pedia a Nelson que escrevesse qualquer coisa para ser lida em algum programa e pagava-lhe por fora. Ou, quando não havia tempo hábil para isso, Walter inventava que Nelson havia escrito alguma coisa, mandava-o assinar um recibo e usava aquilo para cancelar o desconto em folha.
E não estava, como se diz, exorbitando. Nelson era uma das atrações da Globo. Seu quadro “A cabra vadia”, que ia ao ar como uma seção do programa “Noite de gala”, às segundas-feiras, era hilariante. A cabra vadia começara como um personagem em prosa, em sua coluna no jornal, “À sombra das chuteiras imortais”. Nelson usava a cabra como testemunha muda de suas entrevistas imaginárias com personalidades várias, realizadas num terreno baldio também imaginário. A suposição era a de que há certas coisas que só se confessam num terreno baldio. Maurício Sherman, produtor da Globo, teve a idéia de levar Nelson, o terreno baldio e a cabra — uma cabra de verdade — para “Noite de gala”. O entrevistado também seria de verdade.
A cabra foi contratada pela Globo em regime “full time” e passava a semana amarrada no pátio da estação. Em 1966, a rua Von Martius, no Jardim Botânico, onde ficava a televisão, ainda era um vasto capinzal, donde a cabra não tinha problemas de cesta básica. Às quintas-feiras, dia da gravação, era deixada de propósito sem comer, para desempenhar melhor o seu papel no vídeo. Quando Nelson e o entrevistado estavam, prontos, a cabra era trazida para o estúdio, depositavam uma montanha de capim à sua frente e as câmaras faziam o resto.
Roberto Marinho não tinha sido comunicado. Quando entrou pela primeira vez no estúdio e viu-o transformado numa jângal, pensou que havia entrado na estação errada, talvez na TV Tupi. Mas, ao saber que era o cenário do quadro de Nelson, já não achou tão esquisito.
O primeiro entrevistado de Nelson em “A cabra vadia” foi João Havelange, então presidente da CBD. O escrete brasileiro preparava-se para ser tricampeão do mundo na Copa de 1966, em Londres. A comissão técnica dava o caneco como faturado, convocara para treinamento quase todos os jogadores em atividade no Brasil — e o resultado era que, a poucos dias da estréia na Copa, o Brasil ainda não tinha um time. Tinha vários. O desastre era iminente. No “terreno baldio”, enquanto a cabra “comia o cenário”, Havelange disse a Nelson o que não teria coragem de dizer “nem ao médium depois de morto”: que, com aquela comissão técnica, o Brasil não seria ti em Londres nem de cuspe à distancia.
Mário Filho pôs sua fé inabalável dentro da mala e foi a Londres para ver as maravilhas que os veteranos, como Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Garrincha e Pelé, e os novatos, como Gérson, Tostão, Jairzinho, Silva e Alcindo, iriam fazer durante o tri. Assistiu aos três jogos do Brasil sentado nas cadeiras atrás dos gols para os quais o escrete atacava. Mas quase não teve o que ver. No primeiro jogo, contra a Bulgária, no dia 12 de julho, Pelé e Garrincha fizeram 2 x 0. Ninguém se empolgou, mas o Brasil vencera, era isso que importava, a camisa amarela jogava sozinha. O jogo seguinte, três dias depois, contra a Hungria, trouxe o escrete à dura realidade. A derrota por 3 x 1 revelou um time velho, desentrosado e medroso. Restava o terceiro jogo, decisivo, contra Portugal, no dia 19. Até Mário Filho esperou pelo pior.
Vicente Feola, reconduzido ao comando da seleção, trocou nove jogadores na véspera da partida e botou-os em campo. Alguns foram apresentados uns aos outros já com a bola rolando. O Brasil perdeu de novo por 3 x 1, o que significava pegar o boné e voltar para casa. A cada gol português, o comentarista Hans Henningsen, o “Marinheiro sueco”, sentado ao lado de Mário Filho, via-o desmoronar.
Dois meses depois, já de volta ao Rio, Mário Filho estava morto aos 58 anos. Não se pode dizer que foi apenas o fracasso do Brasil na Copa que provocou o enfarte de Mário Filho — o seu primeiro, único e fatal enfarte. É verdade que ele pusera no tri muitas fichas de seu jornal: comprara papel, investira em máquinas, o futebol teria um enorme impulso com a conquista definitiva da taça “Jules Rimet”, a circulação do “Jornal dos Sports” dobraria por muitos meses. Acontecera isso nas outras duas Copas que o Brasil havia ganho, em 1958 e 1962. E, desta vez, ele queria estar preparado.
A de 1962, no Chile, Mário Filho também tinha ido assistir. Depois de Garrincha, o maior jogador do Brasil fora Amarildo, o “Possesso”, cuja convocação se devera à campanha de Nelson no “Jornal dos Sports”. Ninguém parecia acreditar em Amarildo exceto Nelson. Quando Pelé se machucou e ficou fora da Copa, o “Possesso” entrou e fez os gols por Pelé. Mário Filho voltara do Chile com dois livros: “Copa do Mundo, 62”, que lançara pelas “Edições O Cruzeiro” e cujos direitos da primeira edição revertera aos 22 jogadores; e “Viagem em torno de Pelé”, que publicara em 1963 pela “Editora do Autor” e que se dizia que irritara Pelé — que se teria sentido com direito a uma porcentagem sobre as vendas, porque passara horas contando sua vida para Mário Filho na concentração de Viña del Mar. Como se, apesar de todo esse material, Mário Filho não tivesse imaginado metade da história — e bem que Pelé gostaria de ter vivido aquela vida.
O que Mário Filho gostaria de ter sido, na verdade, era um ficcionista como Tolstói ou Dostoiévski, seus escritores do coração. (Quando jovem aprendera inglês para ler “Guerra e paz”, por não confiar nas traduções em português.) Mas o jornal e o esporte o desviaram do que julgava ser a sua vocação. Seus dois romances de adolescência, “Bonecas” e “Senhorita 1950”, Mário Filho descartara da memória, dos registros e até da sua obra. Não tinham sido para valer. Ficção para valer ele estava começando a escrever agora, com “O rosto”, um dia na vida de um jornalista no Rio da década de 20, e com uma trilogia que se chamaria “A espanhola” — por “espanhola” entendendo-se a gripe que quase dizimara a cidade em fins de 1918.
“O rosto” já safra pela Record, também de Alfredo Machado, em 1965. Mas, antes de fazer ponta no lápis para se dedicar a “A espanhola”, Mário Filho queria ver publicado o seu monumental “Infância de Portinari”, que levara vinte anos escrevendo como se tirasse cada palavra de uma caixa de música. O texto e as pranchas já estavam com Adolpho Bloch, que prometera publicá-lo em fins de 1966 — assim que ficasse satisfeito com as cores das dezesseis reproduções de Portinari que o livro conteria.
E, em 1965, o ano do quarto centenário do Rio de Janeiro, Mário Filho exagerara. Os “Jogos da primavera” tinham sido os “Jogos mundiais da primavera”. Não se limitara a ter os clubes e colégios do Rio; convidara também delegações da Europa, dos Estados Unidos, do resto da América do Sul. Foram os maiores “Jogos” da história dos “Jogos”. Alguém de fora, que não o conhecesse, poderia dizer que era impossível alguém sentir-se tão realizado.
Mas havia um travo na vida de Mário Filho, que não apenas comprometia a sua felicidade, como a arruinava miseravelmente: o alcoolismo de seu filho único, Mário Júlio Rodrigues.
Mário Júlio nascera em 1928 e seu problema se revelara aos dezessete anos, em 1945 — justamente quando Mário Filho estava perto de se separar de Roberto Marinho e fazendo grandes planos para seu filho e para o “Jornal dos Sports”. Quando começou, Mário Júlio era apenas um bebedor clássico: altos porres, sentimentos de culpa e novos porres. Mas aos poucos tornou-se um bebedor trágico, porque consciente de sua condição: depois de incontáveis passagens por clínicas de recuperação, podia dar palestras sobre alcoolismo. Só não conseguia parar de beber. Casou-se com Dalila, teve um filho — Mário Neto — em 1947, mas não adiantou. Mantinha uma relação adversária com seu pai e com todos os tios, exceto Paulinho, quase da sua geração. Era como se não quisesse ser um Rodrigues — o que ele era, por dentro e por fora, inclusive na admiração por Dostoiévski, que relia completo todo ano.
Nos últimos anos, Mário Júlio já não tinha forças para lutar contra ou a favor de sua doença. Mário Filho e Célia o levaram até a Zé Arigó. Quando o estado de Mário Júlio ficava impraticável na redação, onde suas funções já eram pouco mais que decorativas, Mário Filho chamava a ambulância e o mandava para a casa de saúde Doutor Eiras, em Botafogo. Mário Júlio deixava-se levar docilmente. Quando a ambulância se afastava, Mário Filho voltava lentamente para sua sala e ficava horas olhando para a parede, sem ver qualquer significado nos quadros e fotos que contavam a história dos seus quase quarenta anos de triunfos.
Na noite de 16 de setembro de 1966, Mário Filho deu um jantar em sua casa para alguns amigos. Nelson estava presente. Por volta de 22 horas, Mário Filho pediu a Célia um banquinho para descansar a perna debaixo da mesa. Sentira uma câimbra estranha e uma dor no braço. Ligou para sua irmã Stella, médica: “Stella, essa dor no braço não está normal”. Stella mandou-o ir imediatamente para uma clínica de Copacabana.
Célia foi com ele. Na clínica, foi atendido por um médico que o examinou perfunctoriamente e disse que ele não tinha nada. Mário Filho insistiu, queria um eletro, mas o médico garantiu que ele estava bem e que, além disso, era a sua hora de sair.
Mário Filho e Célia voltaram para casa. Os convidados já tinham se retirado, exceto Nelson, que ficou com ele até uma da manhã. E então Nelson despediu-se e também foi embora. Mário Filho foi dormir e acordou três horas depois, sentindo-se mal. Ligou para seu médico particular e foi informado de que este estava fora do Rio. O telefone caiu-lhe da mão. Estava morto.
- 1967 - A CABRA VADIA
No começo de 1966, Carlos Lacerda chamou Nelson Rodrigues a seu escritório — e dessa vez não era para acusá-lo de querer destruir a família brasileira.
“Olha, vou fazer uma editora”, disse Lacerda. “Quero um romance seu. Mas nada de ‘Suzana Flag’. Quero Nelson Rodrigues. Escreva o que quiser, não vou censurar nada.”
E deu-lhe um cheque de dois milhões de cruzeiros — um adiantamento que pareceu a Nelson “digno de um Proust”, embora não passasse de cerca de novecentos dólares.
Nelson foi para casa e, em dois meses, escreveu “O casamento” — um romance que se o Carlos Lacerda de 1966 fosse o mesmo de 1953 teria convocado seus amigos conspiradores da Aeronáutica para promover um raide aéreo contra a cabeça de Nelson. Nada mais anti-Carlos Lacerda e tudo que ele representara do que “O casamento”. E Carlos Lacerda ia fazer de “O casamento” o primeiro livro de sua editora, a Nova Fronteira.
Surpreso? Pois fazia tempo que Nelson e Lacerda estavam reconciliados. Desde 1961, quando Lacerda se elegera governador do novo estado da Guanabara e, num gesto de quem estende a mão, convidara-o a visitá-lo em palácio. Nelson aceitara trocar de bem porque, mesmo na pior época em que Lacerda chamava de “canalhas” todo mundo em “Última Hora”, inclusive ele, Nelson ouvia-o pelo rádio e tinha sentimentos mistos: num momento xingava-o de “cachorro” e dizia: “Só dando-lhe um tiro na boca!”; no outro, ficava besta: “Como fala bem esse desgraçado! Rui não chegava nem aos pés!”. Sabia que Lacerda era inteligente e esperto demais para acreditar no que vociferava contra ele. Os dois riram das brigas do passado e Nelson voltou a achar que o Brasil precisava até dos defeitos de Carlos Lacerda.
Nelson escreveu “O casamento”, entregou-o a Lacerda na Nova Fronteira e ouviu dele que tudo azul. E só então Lacerda foi ler o romance. Ficou assustadíssimo. A UDN podia ter aprendido a diferença entre meninos e meninas, mas não estava preparada para aquilo. Era um carnaval de incestos e perversões às vésperas de um casamento. Ao mesmo tempo, Lacerda não queria dar a entender a Nelson que o recusara. Outro poderia publicar aquele romance, não ele.
Ofereceu-o a Alfredo Machado, que o aceitou na hora para sua editora Eldorado. E então armaram um esquema pelo qual uma cópia cairia “acidentalmente” nas mãos de Machado. Este diria: “Quem vai editar ‘O casamento’ sou eu!”, pagaria os dois milhões de cruzeiros a Lacerda e ficaria com o livro. E Nelson acreditaria porque, se houvesse uma coisa que ele sabia que não adiantava, era discutir com Alfredo Machado.
“O casamento” vendeu oito mil exemplares nas primeiras duas semanas de setembro de 1966, pau a pau com o novo romance de Jorge Amado, “Dona Flor e seus dois maridos”, que a outra editora de Machado, a Record, também acabara de lançar. “O casamento” estava a caminho de uma brilhante carreira nas livrarias quando a morte de Mário Filho pegou Nelson de surpresa e abateu-o. Coquetéis, noites de autógrafos, entrevistas, tudo foi cancelado. Nelson sentiu-se enlutado por si próprio, que era irmão, e por todas as gerações que Mário Filho banhara ao longo da vida, “como se fosse um rio”.
E, um mês depois, em outubro, quando decidiu atirar-se de novo à campanha de lançamento do livro, o ministro da Justiça de Castello Branco, Carlos Medeiros Silva, baixou uma portaria proibindo “O casamento”.
Trechos da justificação da portaria — e não vale rir — diziam:
“Considerando que a desmoralização do casamento importa, sem sombra de dúvida, a da família e, em conseqüência, a subversão de nosso sistema de vida cristão e democrático;
“Considerando que a liberdade de manifestação do pensamento não importa permitir a licenciosidade, máxime quando atinge a instituição do casamento;
“Considerando, por fim, que o livro ‘O casamento’, de autoria de Nelson Rodrigues, pela torpeza das cenas descritas e linguagem indecorosa em que está vazado, atenta contra a organização da família, impondo-se, por esse motivo, medidas que impeçam a sua divulgação, resolve:
“1. Declarar proibidas a edição, distribuição e venda, em todo o território nacional, do livro ‘O casamento’, de autoria de Nelson Rodrigues;
“2. Determinar ao DFSP (Departamento Federal de Segurança Pública) as providências necessárias à apreensão.”
Não se sabe de onde Carlos Medeiros Silva tirou tempo para ler “O casamento”, empenhado que estava no seu prazer solitário de escrever a Constituição que, três meses depois, seria promulgada por um Congresso de joelhos — a que abolira as eleições diretas para presidente e daria ao regime militar os instrumentos para perpetuar-se no poder. E possível que nem tenha folheado o livro e que assinara a portaria para atender às pressões de setores que, de 1966, ainda acreditavam nos discursos de Carlos Lacerda em 1953. Se o tivesse lido teria enxergado o óbvio: que “O casamento” era uma defesa encarniçada da família e do próprio casamento. Mas o pior era que, com a podaria, Carlos Medeiros Silva denunciava também sua ignorância da lei — porque, na época, os livros estavam isentos de censura.
Assim que o “Diário Oficial” trazendo a medida chegou às redações, os jornais foram correndo ouvir Nelson. E ele reagiu com uma fúria de que poucos o julgavam capaz:
“Essa é uma medida odiosa e analfabeta”, disse Nelson ao “Jornal do Brasil”. “Sinto uma profunda e definitiva vergonha de ser brasileiro. O livro é de um moralismo transparente, taxativo e ostensivo para quem sabe ler e para quem não é analfabeto nato ou hereditário. Caso se confirme a notícia, vou espernear com todas as minhas forças, porque não estamos no faroeste e ainda há leis no Brasil que devem ser respeitadas. Eu acredito que a Justiça imporá a obra nas livrarias. Outra esperança que tenho, apesar de tudo, é a de que não assistirei à queima pública do meu livro como numa cerimônia nazista.”
A proibição de “O casamento”, além de ser uma descarada transgressão constitucional, era ainda mais perigosa porque abria um precedente: permitiria que, a partir dali, qualquer autoridade administrativa, como um prefeito ou um secretário de Obras, se sentisse no direito de proibir e apreender livros que não lhe agradassem. E tudo isso, como se dizia, ao arrepio da lei. Se não fosse contida, o passo seguinte seria a censura prévia — nada improvável numa época em que clássicos como “A capital”, de Eça de Queiroz, e “O vermelho e o negro”, de Stendhal, chegaram a ser confiscados como subversivos por alimárias a serviço do Estado.
Agentes do DOPS saíram pelas livrarias de Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre apreendendo “O casamento”. A colheita foi magra porque as duas primeiras edições, de três mil e cinco mil exemplares, já estavam esgotadas. Alfredo Machado preparava-se para rodar a terceira, mas, com a proibição, teve de mandar parar as máquinas.
Apesar disso — e de a imprensa ainda gozar considerável liberdade naqueles tempos pré-AI-5 —, não se ouviu um coro de protestos contra a proibição do romance de Nelson Rodrigues. A esquerda, desta vez, achou que não era com ela. Das vozes isoladas que se manifestaram em solidariedade a Nelson — Paulo Francis, Hélio Pellegrino, Franklin de Oliveira, Rubem Braga, R. Magalhães Jr., Austregésilo de Athayde e José Lino Grünewald —, só os três primeiros poderiam ser considerados “de esquerda”. E, assim mesmo, Paulo Francis não era ortodoxo e Hélio e Franklin eram velhos amigos de Nelson. Até para quem, como Nelson, habituara-se a ser uma voz isolada contra a unanimidade, essa unanimidade estava ficando — sem piada — cada vez mais numerosa.
Se não tinha a solidariedade da esquerda, a direita é que não concederia a Nelson uma palavra de esmola. Alguém se dera ao trabalho de contar e enxergara 147 palavrões em “O casamento”. Mas nem a “linguagem indecorosa” de que o acusava Carlos Medeiros Silva poderia servir de argumento, porque as livrarias ainda estavam abarrotadas de “Trópico de câncer”, o romance de Henry Miller lançado um ano antes. E “Trópico de câncer” continha essa mesma quantidade de palavrões — só que por capítulo.
O golpe de misericórdia na confiança de Nelson aconteceu quando “O Globo” (onde ele escrevia diariamente “À sombra das chuteiras imortais”) publicou no dia 19 de outubro um tópico de primeira página defendendo a proibição do livro. O tópico intitulava-se “Um dever de consciência” e não citava “O casamento”. Nem precisava. Bastava justificar a “corajosa” atitude de Carlos Medeiros Silva ao proibir um livro que atentava contra “os princípios basilares da nossa organização social, e entre esses o do matrimônio”.
Nelson quis cortar os pulsos:
“Mas é o fim do mundo! Como isso pode acontecer no meu próprio jornal?”
Não se queixou a Roberto Marinho. Mas a literatura brasileira passou a ter uma dívida de gratidão para com o anônimo redator daquele tópico que magoou Nelson tão fundo. Ele foi o responsável por Nelson dar uma nova guinada profissional e de vida, ao começar a escrever suas “Memórias” no “Correio da Manhã”.
“Por que você não se muda para o ‘Correio da Manhã’?”, perguntou-lhe o jornalista Francisco Pedro do Coutto na tribuna de imprensa do Maracanã.
Nelson vislumbrou ali uma saída. Estava indignado com “O Globo”, considerava-se com um punhal cravado às costas. Mas precisava pensar bem. Não podia largar tudo de uma hora para a outra. Havia a TV Globo. De certa forma eram a “Resenha Facit” e o esquete de “A cabra vadia” em “Noite de gala” que pagavam o seu aluguel, o tratamento de Daniela, os brincos de Lúcia. Mas o “Correio da Manhã” lhe estava sendo simpático na proibição de “O casamento”. Até Paulo Francis o defendera. E o “Correio da Manhã” publicara outro artigo, de um rapaz que ele não conhecia, José Lino Grünewald, que só faltara chamar Carlos Medeiros Silva de burro. “Quem é esse kamikaze?”, perguntou Nelson, referindo-se a Grünewald. E autorizou Coutto, redator do “Correio da Manhã”, a tratar do caso.
Paulo Bittencourt morrera em 1964, mas o “Correio da Manhã” continuava um jornal difícil, com seus vetos seculares a certos nomes. Lima Barreto, por exemplo, não existia para o “Correio da Manhã”, porque satirizara Edmundo Bittencourt em seu romance “Recordações do escrivão Isaias Caminha”. E isso tinha sido em 1909. Desde então, Lima Barreto nunca mais “existira” para o jornal. Seu nome não podia sair. Era bom saber se havia algum veto a Nelson. Coutto levou a idéia a Newton Rodrigues, redator-chefe (sem parentesco com Nelson); Newton aprovou-a e falou com Oswaldo Peralva, superintendente; e Peralva, antigo companheiro de Nelson em “Última Hora”, foi consultar Niomar Moniz Sodré, viúva de Paulo Bittencourt. A resposta foi animadora: “Não há nada. Nelson é bem-vindo”.
Coutto levou Nelson ao apartamento de José Lino Grünewald na rua Gastão Baiana, em Copacabana, e Nelson julgou descobrir em José Lino uma alma gêmea: os dois gostavam de ópera, boleros e Vicente Celestino. Daí a dias foram todos almoçar no restaurante de Mirtes Paranhos no Hotel Empire: Nelson, Coutto, Newton Rodrigues, José Lino e um amigo de Nelson, o advogado Marcello Soares de Moura. Nelson falou a Newton de sua impossibilidade de deixar a TV Globo. Mas Newton tinha a solução:
“Você não precisará deixar a TV Globo e, se preferir, nem mesmo a coluna de futebol em ‘O Globo’. O que queremos de você são as ‘Memórias de Nelson Rodrigues’.”
Era uma época em que até as estrelas como Nelson podiam (e precisavam) assinar artigos em mais de um jornal. Os salários eram tão baixos que nenhum patrão ousava exigir exclusividade. Nelson foi falar com Roberto Marinho e este não se opôs: Nelson continuaria com as “Chuteiras” em seu jornal e com tudo que fazia na televisão e que fosse feliz no “Correio da Manhã” — se pudesse. Se se tratava de escrever suas memórias, Nelson teria de falar de Mário Rodrigues e da briga com Edmundo Bittencourt em torno do “fígado podre”. E aí — queria saber Roberto Marinho —, como ficaria?
Nelson não quis saber. A primeira vez que subiu ao terceiro andar do “Correio da Manhã” na avenida Gomes Freire, na Lapa, houve um “frisson” na redação. Um repórter político, Oyama Telles, forte como Johnny Weissmuller, saiu correndo quando o viu e foi esconder-se no arquivo. Julgou enxergar em Nelson o “anjo do mal”. Foi o único que o olhou torto — porque, no resto, aquela era uma redação de amigos. (Reconciliara-se até com Paulo Francis, ao descobrir, na casa de José Lino Grünewald, que Francis também gostava de ópera.) As “Memórias” sairiam diariamente na primeira página do segundo caderno, do qual Grünewald era o editor. E seriam, em principio, o que o titulo dizia: reminiscências autobiográficas, nada impedindo que Nelson, se quisesse, comentasse também os assuntos da atualidade.
Quando aceitou escrevê-las, Nelson estava com 54 anos. Precoce talvez para “memórias”, não? Não, porque, desses 54 anos, ele passara quarenta em redações. Era toda uma vida. Fizera parte de jornais e revistas no berço, na plenitude e na morte. Atravessara todas as revoluções gráficas, estilísticas e empresariais da imprensa naquele período e, nem que fosse como coadjuvante, acompanhara de perto todas as transformações políticas do Brasil. Numa delas, a de 1930, tinha sido até vítima. O leitor poderia perguntar: e daí?
Todos os jornais tinham os seus velhinhos de estimação (e o “Correio da Manhã” estava cheio deles), e isso não bastava para que se quisesse ler suas memórias. Mas Nelson conhecera de perto os poderosos e, ao mesmo tempo, era um homem identificado com o povo. A televisão tornara-o ainda mais popular, fizera com que as pessoas ligassem o nome à figura. E era também o inventor do teatro brasileiro moderno, provara o sucesso, o fracasso e de novo o sucesso, tudo isso em escala retumbante. Tinha muito para contar e sabia contar como ninguém. Ninguém podia ser mais plástico, engraçado e polêmico ao escrever.
E, de fato, só o currículo profissional de Nelson já impressionava. Fizera reportagem de polícia, futebol, crítica, crônica, conto, folhetim, até mesmo consultório sentimental. Escrevera com seu nome, com pseudônimos e com o nome dos outros. A lista de jornais e revistas importantes pelos quais passara dava água na boca: “A Manhã”, “Crítica”, “O Globo” (três vezes), “O Cruzeiro”, “O Jornal”, “Diário da Noite” (duas vezes), “Última Hora” e “Manchete”, fora os jornais e revistas menores — e mais o “Jornal dos Sports”, do qual era uma espécie de móveis e utensílios de que já ninguém se dava conta. Nem ele — entrava e saía daquelas páginas cor-de-rosa quando lhe convinha, nunca fora sequer registrado em carteira. (Com a morte de Mário Filho, seu sobrinho Mário Júlio assumira a direção e Nelson passara a temer pelo jornal.)
Seus amigos do “Correio da Manhã” nem desconfiavam, mas a primeira opção de Nelson quando magoou-se com “O Globo” era ir para o “Jornal do Brasil”. Tinha amigos bem colocados lá dentro — Otto Lara Resende, Wilson Figueiredo, Carlos Castello Branco — e autorizou pelo menos Wilson a sondar o doutor Nascimento Brito, proprietário do jornal, a respeito de uma contratação. Não houve receptividade. E não se tratava de problema político. Apenas não havia lugar no “Jornal do Brasil” para coisas como “A vida como ela é...” e outras populices mais associadas a vespertinos. Como se veria no futuro, Nelson ficou mais decepcionado com essa recusa do que deixou transparecer. Mas, se o “Jornal do Brasil” lhe fechava as portas, o “Correio da Manhã” as abria.
Com indisfarçado orgulho, o “Correio da Manhã” anunciou durante uma semana, em chamadas de primeira página, as “Memórias de Nelson Rodrigues” para o dia 18 de fevereiro de 1967, uma quinta-feira. E ele estreou em grande estilo. Começou dizendo que nascera no dia 23 de agosto de 1912, no Recife. Duas linhas depois, Mata Hari estava ateando paixões e suicídios nas esquinas e botecos de Paris — e, dai a vinte linhas, a ação passava para o presente, para a esquina de São José com avenida Rio Branco, com um camelô agitando um folheto e gritando:
“A nova Prostituição do Brasil! A nova Prostituição do Brasil!”
Nelson descreve seu estupor. Nunca vira uma prostituição sendo apregoada nas ruas como se fosse sabonete. E o que mais o estarrecia era que o povo passava pelo camelô, numa espécie de escoamento vacum, e ninguém achava nada estranho naquilo. Finalmente Nelson deu-se conta: fora vítima de um monstruoso engano auditivo. O que o camelô estava gritando era:
“A nova Constituição do Brasil! A nova Constituição do Brasil!”
Nelson nem precisaria explicar, como aliás não explicou: a nova Constituição do Brasil, a de 1967, elaborada a frio pelo sinistro Carlos Medeiros Silva — que lhe proibira “O casamento” — prestava-se perfeitamente àquele tipo de ilusão sonora.
Pela amostra de quinta-feira, as “Memórias” de Nelson no “Correio da Manhã” prometiam pegar fogo. Os capítulos seguintes — os de sexta, sábado e domingo — saíram tão brilhantes quanto o primeiro. E então uma chuva forte desabou sobre o Rio naquela noite de domingo.
Cláudio Mello e Souza ainda se lembrava de quando ouvira Nelson usar pela primeira vez a sua frase sobre chuva. Fora na segunda partida entre Santos x Milan, em 1963, pela decisão do campeonato mundial interclubes. Um toró descomunal despencava sobre o Maracanã e o Santos ia ganhar por 4 x 2, passando por cima do inimigo e da lama.
“Esse é um mau tempo de quinto ato do ‘Rigoletto’ “, disse Nelson.
Não ocorreu a Cláudio que o “Rigoletto” não tinha um quinto ato, que aquela ópera acabava no terceiro, como a maioria das óperas. Mas entendeu o que Nelson queria dizer. Dias depois Nelson consagraria a expressão, enriquecendo a imagem da chuva com “raios de curto-circuito e trovões de orquestra”. Até então Nelson gostava de referir-se à “chuva de Olegário Mariano”, pela mania do “poeta das cigarras”, seu antigo protetor e depois inimigo, de botar uma chuva em todos os seus sonetos. Mas a “chuva de Olegário Mariano” era fichinha, uma reles garoa, não se comparava à do “quinto ato do ‘Rigoletto’ “.
E essa, por sua vez, nem chegaria perto da chuva que desabou sobre o Rio na noite de 21 de fevereiro de 1967. Começou como uma chuva fina, por volta das oito horas. De repente transformou-se, como que insuflada por uma constelação de demônios. Clarões sacudiram a cidade, a água despencou de chofre, os pingos tinham quase um palmo de diâmetro. Um ano antes, no verão de 1966, o Rio fora castigado por uma chuva parecida. Morros desabaram, morreu gente, a praça da Bandeira tinha mais água que a lagoa. E agora de novo. Só que pior.
Paulinho Rodrigues, irmão de Nelson, morava com sua mulher, Maria Natália, e os dois filhos adolescentes, Ana Maria, dezenove anos, e Paulo Roberto, dezoito, num prédio de quatro andares na rua Belisário Távora, nas Laranjeiras. Era aniversário de Maria Natália e não haveria festa. Mas sua sogra, dona Marina, já estava lá com os salgadinhos e eles esperavam dois ou três amigos para um uísque. Um deles era seu cunhado Tece Valadão.
A mulher de Tece, Dulce, tinha ido passar o fim de semana em Cabo Frio com seus filhos Alberto Magno e Stellinha. Tece estava sozinho no Rio, sem ter o que fazer. Paulinho e Maria Natália eram os Rodrigues com quem ele mais se dava e prometera ir visitá-los. Pegou o carro e foi lentamente do Flamengo às Laranjeiras sob a chuva fina. Parou na porta do edifício de Paulinho, desceu do carro, contemplou com preguiça os três andares que teria de escalar (não havia elevador) e mudou de idéia. Voltou para o carro e resolveu ir a um cinema em Copacabana. Entrou pelo meio na sessão das oito, saiu do cinema quase às onze e esticou numa boate ao lado, onde ficou até de manhã. Não viu nem ouviu a chuva. E só no dia seguinte descobriu do que escapara: o prédio de Paulinho desabara e estavam todos mortos.
Mário Júlio e sua mulher Dalila também pretendiam ir à casa de Paulinho para abraçar Maria Natália. Quando bem jovens, os dois casais já eram amigos, mas com uma diferença: Paulinho namorava Dalila e Mário Júlio, Maria Natália. Um dia trocaram de par e se casaram. Quando Mário Júlio e Dalila saíram de casa em Copacabana, rumo às Laranjeiras, a chuva estava engrossando. Mas conseguiram achar um táxi e mandaram tocar para Belisário Távora. Quando chegaram à rua das Laranjeiras, ela já estava intransitável. A água que descia do Cosme Velho lembrava aquelas corredeiras de filme. Desceram do táxi e tentaram atravessar a pé. Impossível. O jeito era se esconder debaixo de uma marquise e esperar passar o dilúvio. Duas horas depois, a chuva amainou e eles seguiram viagem. Chegaram ao edifício de Paulinho. Mas, no lugar dele, só encontraram os escombros.
Nelson e Lúcia estavam em casa, em Ipanema. Nelson preparava-se para pegar um táxi e ir para a TV Globo participar da “Resenha Facit”. Enquanto fazia hora, via pela televisão o show de Johnny Halliday, um canastrão francês do “rock and roll”, no Maracanãzinho. A chuva caía pesada e Nelson se perguntava se conseguiria sair de casa. Ligou para alguns colegas: estavam todos ilhados, ninguém podia pôr o pé na rua, só se fosse de escafandro. Alguém ligou da Globo: estavam dispensados, não ia haver resenha. O telefone tocou de novo e, desta vez, foi uma sorte que Lúcia atendesse. Era Helena, irmã de Nelson:
“O prédio de Paulinho desabou!”
Lúcia pensou rápido: se Nelson soubesse, teria um enfarte ali na hora.
“Quem é?”, quis saber Nelson.
Tapeou-o de algum jeito, disfarçou e ligou para o doutor Silva Borges, cardiologista de Nelson. Contou-lhe baixinho a situação e pediu instruções. Este recomendou que ela lhe desse primeiro um calmante e, depois,, a noticia, mas aos poucos. Nelson estranhou o remédio. Lúcia alegou que fazia parte da prescrição rotineira do médico e que ela se esquecera de dizer-lhe. E só então começou a contar-lhe sobre seu irmão.
Paulinho sofrera uma queda em casa, batera a cabeça, ela disse. Minutos depois Lúcia acrescentou que talvez fosse mais sério, ele poderia ter quebrado alguma coisa. O melhor era irem para Laranjeiras, as águas estavam baixando. Foram, mas Nelson ficou desconfiado. No caminho, já no carro, Lúcia contou que uma barreira desabara sobre o edifício. E, quando já estavam perto, acabou de contar a verdade. Nelson reagiu como se soubesse, como se sempre tivesse sabido — e só não quisesse acreditar.
Era um prédio na esquina de rua Belisário Távora com Cristóvão Barcellos, tendo às suas costas uma pedra preta. Durante milhões de anos aquela pedra estivera ali, já sofrera chuvas muito piores. Mas, naquela tempestade, por um desses mistérios geológicos, ela se deslocara silenciosamente de sua base e, às dez e quinze, projetara-se contra uma casa da Cristóvão Barcellos e a arrastara. A casa fora atirada contra um prédio da Belisário Távora e este desabara sobre o prédio de Paulinho. O irmão de Nelson, sua mulher, seus filhos e sua sogra — e todos os outros moradores — foram soterrados por aquele dominó macabro. João, um amigo do filho de Paulinho, estava com eles na hora do desabamento. Quando tudo começou a tremer, Maria Natália mandou-o sair correndo. Ele voou pelas escadas, as paredes se enrugavam às suas costas, o chão se abria em crateras uma fração de segundos depois que ele o deixava para trás. Paulinho e sua família não tiveram tempo para isso: perderam preciosos segundos tentando salvar uns aos outros. Da rua, já seguro, João pôde ver o prédio acabar de se achatar sob uma montanha de concreto e granito, ouvir os gritos de desespero e, depois, não ouvir mais nada.
Quando Nelson e Lúcia chegaram às Laranjeiras, todos os Rodrigues já estavam lá, menos Milton. Milton estava em São Lourenço fazendo uma estação de águas. Aquela noite um estouvado ouviu pelo rádio a notícia do desabamento e foi dizer-lhe à queima-roupa no hotel:
“A sua família inteira morreu!”
Milton ouviu aquilo e caiu duro, desmaiou no ato. Quando o fizeram voltar a si, alguém que sabia da versão correta foi dando-lhe a notícia em gotas.
A chuva deixaria vinte mil desabrigados e perto de quinhentos mortos, dos quais quase trinta apenas no edifício de Paulinho. Os bombeiros começaram a trabalhar assim que a chuva parou, mas levariam 25 dias tirando corpos de debaixo do entulho. No começo esperava-se que ainda houvesse muitos sobreviventes. Mas a cada cadáver que lembrava uma estátua de lama o desespero das famílias aumentava. Os corpos iam sendo reconhecidos. As rádios mandaram equipes e seus locutores liam as listas de mortos como se fossem escalações de times de futebol. Em certos momentos o clima da cobertura parecia a narração de uma partida. Havia uma explicação para isso: muitos repórteres ali eram repórteres esportivos, os únicos que estavam trabalhando normalmente naquele domingo.
Os corpos horrendamente mutilados, inchados, ensangüentados, iam sendo trazidos para o reconhecimento. A rua inteira fora transformada numa morgue. Lúcia não deixou que Nelson participasse disso. Augustinho e seu cunhado Francisco Torturra, marido de Irene, ofereceram-se para o sacrifício. Maria Natália, Ana Maria, Paulo Roberto e dona Marina foram encontrados na manhã de segunda-feira.
Só faltava Paulinho, e esperou-se até o último minuto que estivesse vivo. Foram muitos minutos, milhares de minutos — porque ele só seria encontrado na madrugada de segunda para terça-feira. Depois, Nelson daria graças por ele não ter sobrevivido: se Paulinho escapasse, e soubesse sua família morta, raia-ria para ele “a estrela dos loucos ou dos suicidas”.
Entre o barro e as ruínas, Helena encontrou um exemplar do último livro de Paulinho — um romance publicado no ano anterior, “O sétimo dia”. Os domingos, como aquele da chuva, eram o sétimo dia.
À sua maneira — modesto, elusivo, quase invisível —‘ Paulinho tocara sua vida à sombra dos dois irmãos que admirava apaixonadamente, Nelson e Mário Filho. Com o fim de “Manchete Esportiva” em 1960, ele voltara para “O Globo”, mas não para o esporte. Passara a fazer uma seção, “Se a cidade contasse...”, em que narrava pequenos episódios do cotidiano carioca. Costumava pegar as histórias na seção de polícia do jornal ou valia-se de trivialidades que ele ou outros tivessem presenciado. Ou então inventava: pedia a Marcelo Monteiro, seu ilustrador, que desenhasse alguma coisa. E, a partir do desenho de Marcelo, criava um elenco de personagens, dava-lhes vida e, na maioria dos casos, morte.
Há alguns anos começara a construir uma obra de escritor: publicara dois romances (“O menino e o mundo”, 1958, e “A cidade”, 1959); reunira dois livros de crônicas do jornal (“Cidade nua”, 1961, e “Se a cidade contasse...", 1964); fizera um livro de contos (“Rio íntimo”, 1965); e, então, mais um romance, “O sétimo dia”, em 1966. Seus livros traziam prefácios e apresentações carinhosas de amigos como Álvaro Moreyra, Jorge Amado, Adonias Filho, Antônio Olinto, Carlos Heitor Cony e eram bem recebidos. Torcia-se para que um dia rompesse sua absurda timidez e se soltasse também como ficcionista — um ficcionista de estirpe carioca, como os poucos que sempre existiram. Mas, ate para escrever, Paulinho era suave e modesto, como na vida.
Era dos poucos jornalistas que, ao fim do expediente na redação, não se deixavam ficar pelos bares e pelas ruas. Ia para casa, onde sua grande distração era jogar totó com o filho e os amigos do filho. Já tivera sua fase de bebedor, mas controlara-se — bastara-lhe acompanhar o drama de seu sobrinho e melhor amigo, Mário Júlio. Em 1963, Roberto Marinho passara para o seu nome as ações que lhe restavam do “Jornal dos Sports”. Paulinho tinha agora um pequeno patrimônio, que poderia ajudar sua família, mas não achava isso suficiente: vivia fazendo seguros de vida, sempre às voltas com apólices e resseguros, parecia adivinhar o fim breve. Escapara das águas em 1951, quando o jipe de “Última Hora” caíra dentro do rio e ele quase morrera. Mas não escaparia das águas de 1967.
Na terça-feira, foram todos enterrados no São João Batista. Os caixões iam saindo um a um, às vezes com meia hora de intervalo. A cada caixão os Rodrigues, inclusive Nelson, espocavam numa crise coletiva de choro — seria a primeira vez que muitos dos amigos de Nelson o veriam chorar. E, a cada caixão, alguém que nunca se identificou assoviava uma melodia tristíssima e também desconhecida.
Na noite de segunda-feira, enquanto os bombeiros ainda se debatiam com os destroços das vigas e colunas em busca de Paulinho, Nelson estava no ar em “Noite de gala" entrevistando o governador Negrão de Lima na presença da “cabra vadia". Àquela altura toda a cidade sabia da tragédia das Laranjeiras e não entendia como o irmão de uma das vitimas podia estar ali, na televisão, tão frio e descontraído. Nelson só ficou sabendo disso alguns dias depois, quando foi parado na rua por pessoas que lhe perguntavam como podia ser tão desumano.
Ninguém na TV Globo se lembrara de editar o programa e eliminar o quadro de Nelson, gravado na quinta-feira anterior. Ou, pelo menos, avisar que se tratava de videoteipe. (Não que isso tivesse ajudado muito: a maioria dos telespectadores ainda acreditava que o videoteipe fosse um recurso exclusivo do futebol.)
A morte de Paulinho, assim como a de Mário Filho, cinco meses antes, iria provocar uma alteração na rotina dos Rodrigues. Diariamente, desde os anos 40, todos os filhos de dona Maria Esther, menos Mário Filho, almoçavam com ela — primeiro na rua General Glicério, depois no Parque Guinle. Ela não precisava contar para saber que tinha dez filhos à mesa e que, nos almoços de sábado, eles eram onze, porque então Mário Filho comparecia. Até que, um dia, Mário Filho não foi ao almoço de sábado. Não foi também no sábado seguinte e em nenhum outro sábado. Ninguém contou a dona Maria Esther que Mário Filho havia morrido.
Ela já tinha 79 anos, mas ainda estava lúcida e atenta. Fez que não percebeu a falta de Mário Filho. Na noite e nos dias seguintes à morte de Paulinho, seus filhos enganaram-na para que não visse televisão, não ouvisse rádio e não lesse jornais ou revistas. Mas dona Maria Esther não demorou a notar que agora Paulinho também não vinha almoçar. Nunca lhe disseram nada, nem ela perguntou. Apenas pediu a Helena que fosse ao armário e lhe trouxesse aquele vestido preto.
Nelson interrompeu a publicação das “Memórias” durante uma semana. Elas voltaram ao “Correio da Manhã” no dia 1º de março e Nelson retomou-as contando a morte de Paulinho. Emendou-as com histórias da rua Alegre, sua perda da virgindade com uma prostituta, narrou a morte de Roberto, sua primeira temporada em Campos do Jordão, a perseguição de Lacerda a “última Hora”, o drama de Daniela cega — esta última crônica, sobre Daniela, seria considerada por Otto Lara Resende uma das páginas mais belas da língua portuguesa. E, em duas crônicas, Nelson atacou seu colega do “Correio da Manhã”, Carlos Drummond de Andrade, que escrevia três vezes por semana na página dos editoriais sob as iniciais “C. D. A.”.
Na primeira crônica Nelson vergastou Drummond porque, em sua coluna, C. D. A. dedicara apenas meia dúzia de linhas à tragédia das Laranjeiras, que comovera toda uma cidade, e pingara uma única frase sobre Paulo Rodrigues. A mágoa de Nelson era porque Paulinho (ao contrário dele, Nelson) era um “trêmulo admirador” de Drummond e até lhe dedicara seu último livro, “O sétimo dia”.
Mas, como?, pergunta Nelson. O nosso poeta nacional escreve sobre a tragédia e não consegue dizer nada? Aí está dito tudo: — nada. [...] Ora, o poeta teria de dizer, em meia dúzia de linhas, verdades jamais concebidas. Não disse. [...] Pôs numa frase escassa toda a aridez de três desertos.
Daquela vez Drummond deixou passar. Mas, algumas semanas depois, Nelson voltou à carga. Auto-acusou-se de plagiário numa coisa menor e, de raspão, denunciou que Drummond roubara de Victor Hugo a imagem dos “mortos de sobrecasaca” que usara num poema famoso sem citar a fonte — “como quem pula o muro do vizinho para roubar goiabas”, disse Nelson. Drummond achou que era um desaforo. Foi queixar-se a Newton Rodrigues. Newton ficou surpreso (Drummond não costumava dar confiança ao que escreviam contra ele) e acalmou-o. Mas não disse nada a Nelson. Prometera-lhe liberdade total no que escrevesse e não iria voltar atrás.
Mas a implicância de Nelson com Drummond ficaria por ali porque, no dia 31 de maio, a publicação das “Memórias” foi de novo interrompida.
No dia seguinte, 1º de junho, o jornal deu uma nota comunicando a interrupção e dizendo que “acreditava superar as razões que impediam eventual-mente Nelson Rodrigues de fornecer a seus e nossos leitores a sua coluna”. E garantia que a retomada da série se daria “nos próximos dias”. Enquanto esse dia não chegava, um ou outro tópico na coluna dos editoriais prometia que, superado um “problema de saúde”, Nelson Rodrigues iria voltar. Acontece que Nelson não estava doente.
O sucesso das “Memórias” fora avassalador. O “Correio da Manhã”, um jornal cujo perfil de leitor era o mesmo do “Jornal do Brasil” — Zona Sul, classe A, bem informado —‘ conquistava com elas um mercado que lhe parecia inacessível. Nelson pediu aumento. O “Correio da Manhã” passara a vender mais, mas era, como tantos outros em que ele trabalhara, um jornal em secreta agonia financeira. (E que seria destruído de vez depois do AI-5.) Newton Rodrigues explicou a Nelson que não tinha autorização para aumentá-lo, pelo menos por enquanto. Disse também que vinha tendo o mesmo problema com Drummond — o qual ficara indignado quando descobrira que ganhava menos do que a cozinheira de Niomar Moniz Sodré. Isso não serviu de consolo a Nelson. Pela primeira vez em sua vida profissional, estava brigando por seu salário — e não apenas pedindo favores, adiantamentos ou “entregando-se por um bom-dia”. Não houve acordo e as “Memórias” foram interrompidas no capítulo oitenta.
Os primeiros 39 capítulos tinham sido publicados em livro pela editora que o “Correio da Manhã” estava tentando implantar. O livro, maravilhoso, chamava-se simplesmente “Memórias”, seria o primeiro de uma série e tinha um subtítulo: “A menina sem estrela” — uma referência a Daniela. Era dedicado a Lúcia e, com destaque, em outra página: “Aos meus filhos — Joffre, Nelson, Daniela”.
Podia ser apenas uma dedicatória de amor. Mas podia ser também um recado a três jovens que, de repente, entravam em sua vida, dizendo-se seus filhos: Maria Lúcia, Sônia e Paulo César — filhos de Yolanda.
“Não vou ao teu enterro!”
Essa era a pior ameaça que “Pão doce”, um continuo do “Jornal dos Sports”, podia fazer a alguém. E por um singelo motivo: “Pão doce” consultava diariamente os obituários dos jornais para saber a qual enterro iria. Não queria saber se o morto constava ou deixava de constar dos seus arquivos. Escolhia pela sonoridade do nome do falecido ou dos parentes. Ia todo santo dia para o Caju ou para o São João Batista, postava-se ao lado do caixão com ar sinceramente fúnebre e recebia os pêsames com a cara mais envernizada deste mundo. Ir a um enterro era, para ele, como ir à igreja e ao teatro ao mesmo tempo.
Não ir ao enterro de um conhecido era, portanto, a suprema ofensa que poderia fazer a esse alguém. Mas era a frase que ele disparava quando lhe negavam uns trocados para ir matar o bicho no “Garoto do papai”, o botequim na esquina de avenida Mem de Sá com Henrique Valadares, na Lapa, perto do jornal.
Nelson gostava de “Pão doce” (achava o seu nome de uma doçura dostoiévskiana, assim como Marmeladov), mas evitava contribuir para os seus pifões. E “Pão doce” gostava de Nelson assim mesmo, porque nunca o ameaçava e estava sempre pronto a fazer o carreto de suas colunas. Desde que saíra de “Última Hora”, Nelson passara a preferir o “Jornal dos Sports”, na rua Tenente Possolo, como escritório. Era de uma salinha da contabilidade no primeiro andar que ele escrevia as colunas de futebol de “O Globo”, que “Pão doce” levava, e do próprio “Jornal dos Sports”. Mesmo assim, Nelson todo dia dava uma passada em “O Globo”, nem que fosse para conversar fiado e receber as pessoas que o procuravam. Bem ou mal, “O Globo” é que era o seu segundo lar.
Em 1967, Nelson foi procurado no “Jornal dos Sports” por uma menina que se dizia sua filha: Maria Lúcia, filha de Yolanda, a “ardente canarina” com quem ele tivera um longo “caso” nos anos 50. Maria Lúcia tinha agora catorze anos. (Quando Nelson a vira pela última vez, ela tinha quatro.) A menina falou-lhe de seus dois irmãos, Sônia, de doze anos, e Paulo César, de dez. Eram seus filhos, como ele sabia — ela disse. Durante todo aquele tempo tinham se mantido afastados porque sua mãe os proibira de vê-lo. Mas agora estavam em dificuldades: a mãe se “ausentara”, precisavam que ele lhes desse uma pensão.
Nelson não gostou do que ouviu. Admitia que o garoto fosse seu, mas nunca tivera certeza quanto às meninas. Maria Lúcia alegou que tinham certidões de nascimento, que Nelson os reconhecera como filhos. Nelson negou que tivesse feito tal coisa. Dispunha-se a dar uma ajuda regular a Paulo César, mas não aceitava pressões e não acreditava nos documentos. Maria Lúcia insistiu e então Nelson procurou um advogado: o doutor Alfredo Tranjan.
Tranjan examinou as certidões que lhe foram levadas por Maria Lúcia. Tinham sido passadas num cartório em Barueri, uma cidade a 26 quilômetros de São Paulo, e diziam: “Foi declarante o próprio pai”. Tranjan perguntou a Nelson sobre isso e ele garantiu:
“Nem de disco voador eu fui a Barueri.”
Tranjan mandou um de seus assistentes a Barueri. Este foi ao cartório e examinou os livros, folhas e datas citadas nas certidões. Nada constava — nem mesmo nas folhas e datas próximas. O cartório forneceu uma declaração ao escritório de Tranjan atestando isso. O tabelião disse também que seu antecessor estava desaparecido e sendo procurado por outras irregularidades do gênero. Tranjan recebeu a documentação e a apresentou a Nelson. Não havia dúvida quanto à falsidade das certidões — com a agravante de que, naquele momento, Yolanda se “ausentara” porque cumpria pena por estelionato numa penitenciária do Rio. Por isso a menina fora procurá-lo. Nelson não tinha de pagar qualquer pensão e, se quisesse, poderia processar Yolanda por falsidade ideológica. O que ele gostaria de fazer?
Nelson disse:
“Nada. Essas crianças não têm culpa.”
Pagaria uma pensão a Paulo César e só a ele, disse. Maria Lúcia foi chamada ao escritório do advogado, Tranjan comunicou-lhe a decisão de Nelson e ela pareceu surpresa ao ouvir o resultado da investigação feita em Barueri.
Isso não encerrou o assunto. Pelos dez anos seguintes em que Nelson pagou a pensão, até 1977, houve um clima de hostilidade permanente entre ele e as duas moças a respeito do valor. Numa das vezes, Maria Lúcia derramou café quente sobre Nelson na redação do “Jornal dos Sports”. Em outra ocasião, Carmelita, uma tia espanhola das moças, invadiu o jornal e gritou para
Nelson:
“Quem os pariu que os lamba!”
Por volta de 1970, Sônia substituiu Maria Lúcia na tarefa de cobrança, mas as relações não melhoraram. Nelson começou a exigir recibo. Depois passou a fazer o pagamento através de intermediários, para não ter de encontrá-las. O primeiro intermediário foi Oneir Pinho, secretária no “Jornal dos Sports”. Alguns anos depois, seria Augustinho, irmão de Nelson. Sônia ou Maria Lúcia ia procurá-lo em “O Globo” e Augustinho lhes passava a pensão em dinheiro. Nelson disse várias vezes a Augustinho:
“Não me incomodaria de ajudar se elas não fossem tão desagradáveis e hostis. Desse jeito, é uma chantagem.”
Já em liberdade, foi Yolanda quem começou a procurar Nelson em “O Globo” para desafiá-lo. Ele deu ordens na recepção para que não a deixassem entrar.
Em 1974, o próprio Paulo César substituiu Sônia na função de buscar o dinheiro. Ele era a sua cara. Com o menino, Nelson era diferente. Perguntava como ele ia no colégio, parecia ter outra preocupação. Queixou-se com amargura a Paulo César da “inteligência perversa” de Maria Lúcia e Sônia. Finalmente, em 1977, aos vinte anos, Paulo César começou a trabalhar, dispensou a ajuda de Nelson e nunca mais se viram.
A idéia de dar o nome de Mário Filho ao Maracanã tinha sido do locutor Waldir Amaral. Alguém sugerira um busto, mas Waldir Amaral achara pouco. Mário Filho merecia o estádio inteiro. Afinal, ele era “o namorado do Maracanã”. E, não fosse a sua campanha, os Fla-Flus e os Vasco x Botafogo jamais teriam aquelas multidões. Não em Jacarepaguá. Mas Waldir era da rádio Globo, funcionário de Roberto Marinho — e Roberto Marinho fora rompido com Mário Filho. Verdade que Roberto Marinho se comovera com a morte de Mário Filho e fora ao seu velório, mas isso agora era diferente. Waldir Amara~ consultou-o sobre engajar a rádio Globo naquela campanha e recebeu sinal verde. Telefonou para o marechal Ângelo Mendes de Morais e perguntou-lhe se não se opunha. Mendes de Morais era o prefeito da construção do Maracanã e, em certa época, cogitara-se de dar o seu nome ao estádio. Mendes de Morais não se opôs. Ao contrário: apoiou vivamente a idéia de Waldir Amaral.
Amaral falou então com os vereadores Raul Brunini, da ARENA, e Jamil Haddad, do MDIJ — um de cada partido, para não haver briga. Os dois propuseram a moção à Assembléia Legislativa e esta a aprovou por unanimidade. Poucas semanas depois da morte de seu grande campeão, o Maracanã passou a ter o seu nome. Mas não havia dinheiro para comprar as letras. Para que o novo nome aparecesse na fachada, tiveram de arrancar as letras velhas, de bronze, que diziam “Estádio Municipal do Maracanã”, e refundi-las para escrever “Estádio Mário Filho”.
Pouco mais de um ano depois da morte de Mário Filho, Célia, sua viúva, se matou. Tomou veneno, em dezembro de 1967. Não era a sua primeira tentativa. Célia era de natureza depressiva e a perda do homem com quem fora casada durante quarenta anos acabara de golpeá-la. E não fora casada com um qualquer — fora casada com Mário Filho. Seus cunhados, testemunhas daquela paixão mútua e obsessiva, desconfiavam que ela decidira fazer isso no próprio enterro, enquanto o caixão de Mário Filho era conduzido tendo como alas os amadores do Flamengo.
Com a morte de Mário Filho e agora de Célia, o “Jornal dos Sports” ficava definitivamente nas mãos de Mário Júlio. Mas as atribulações de sua vida pessoal acabaram refletindo-se no destino do jornal. Mário Júlio separou-se de Dalila e casou-se com Cacilda, com quem teve dois filhos. Numa das internações a que ainda se submeteria, fez um testamento em que deixava o “Jornal dos Sports” para sua segunda mulher. Morreu em 1972, aos 44 anos. E, em 1980, Cacilda vendeu o jornal para as “Casas da Banha”.
Três anos antes da morte de Mário Júlio, em 1969, o editor-chefe do jornal, Fernando Horácio, decidira fazer uma reforma nas instalações, tentando ganhar mais espaço. Havia uma porta fechada que dava para a antiga sala de Mário Filho. Ninguém sabia onde estava a chave ou o que havia ali dentro. Fernando Horácio pediu ao gerente Ennio Sérvio Souza a planta do prédio e descobriram que se tratava de um aposento de três por cinco metros. Com autorização de Mário Júlio, mandaram arrombar a porta.
Era uma boa salinha, contendo uma escrivaninha, uma cadeira e uma estante. Nas prateleiras, encontraram dezenas de livros eróticos, muitos em francês, alguns deles ilustrados. Eram os clássicos do erotismo antigo: Restif de la Bretonne, Sade, Casanova, o “Kama sutra”, D’Annunzio, Kraft-Ebing e diversos anônimos. Nada que não faça parte hoje da biblioteca de um adolescente curioso — mas que o austero Mário Filho colecionava num segredo cioso e também adolescente.
E, nas gavetas, acharam cerca de quarenta cadernos espirais, escritos excepcionalmente a tinta, mas com a inimitável letra de Mário Filho. Eram contos eróticos. As descrições não deixavam dúvidas sobre do que se tratava, mas a inevitável elegância de Mário Filho predominava no estilo, até nos eufemismos lawrencianos para referir-se aos órgãos genitais. Por exemplo, um personagem tratava a vagina de sua namorada de “gatinha”. Quem os leu garante que eram contos lindos, deliciosamente sugestivos.
Ou Mário Filho, também nesse departamento, não seria um Rodrigues. Fernando Horácio e Ennio Sérvio Souza chamaram Mário Júlio. Este examinou rapidamente o material. Mandou queimar os cadernos no terraço do jornal e vender os livros para algum sebo. O que foi feito — com exceção de um ou dois cadernos.
“Que Deus te inspire, Raphael, ao escrever essa prece”, dizia Nelson para Raphael de Almeida Magalhães enquanto este, como advogado, redigia o mandado de segurança contra o ato de Carlos Medeiros Silva proibindo “O casamento”.
O mandado foi julgado em fevereiro de 1967 e decidiu pela liberação do livro. Em abril, o Tribunal Federal de Recursos confirmou a sentença por 5 x 4, considerando o ato do ministro da Justiça “ilegalidade máxima”. O voto vencedor foi o do ministro do Tribunal, Márcio Ribeiro. “O casamento” estava livre de novo. Essa decisão revertia a situação e a tornava favorável a todos os mandados de segurança encaminhados à Corte pelos autores e editores proibidos desde 1964 — donde o sacrifício temporário de “O casamento” não fora em vão. O livro foi relançado, tirou várias edições e, se as famílias deixaram rapidamente de ser o que eram, não foi por sua culpa.
Em dezembro de 1965, havia sido também uma penada de Raphael de Almeida Magalhães (só que então como governador da Guanabara, completando o mandato de Carlos Lacerda) que liberara “Álbum de família” — a peça de Nelson interditada desde o já imemorial ano de 1946.
O pedido fora de Otto Lara Resende, para se livrar da insistência de Nelson: “Fala com o Raphael! Já falou com o Raphael?”. Otto falou e foi a coisa mais simples do mundo: Raphael mandou buscar o processo na Polícia Federal, passou os olhos sobre aquelas folhas encardidas, escreveu “Revogue-se” e mandou despachar. Ninguém o contestou e ficou por isso mesmo. Não lhe tomara mais que meia hora para anular uma proibição que se arrastava há dezenove anos.
Mesmo depois deliberada, “Álbum de família” ainda levaria um ano e meio para ser montada. Nelson ofereceu-a a várias companhias. Ouviu recusas baseadas em “falta de teatro’ “falta de datas” e “falta de elenco” — nenhuma de “falta de coragem’~ Em julho de 1967, finalmente, a peça foi levada à cena pelo diretor Kleber Santos no Teatro Jovem, em Botafogo, e desmentiu a praga que lhe rogara o veterano Jaime Costa — a de que, se um dia fosse representada, veríamos “pela primeira vez no Brasil o público impedir o final de um espetáculo". O carrossel de incestos era mesmo de assustar, mas a platéia ficou até o fim e aplaudiu, embora o próprio Nelson achasse a encenação longe da ideal.
“Álbum de família” não provocou o impacto que se esperava, mas a culpa não era da peça e podia não ser da encenação. Podia ser da época. Para provocar algum impacto na cena teatral de 1967 ou 1968, nem encenando a “Via crucis” com um elenco nu.
As “Memórias” de Nelson no “Correio da Manhã” tinham sido surpreendentes até para os que acreditavam conhecer a sua vida pelo avesso, como Roberto Marinho. Ele quis levá-las para “O Globo” e, agora que Nelson desistira de um acordo com o jornal de Niomar Moniz Sodré, era só acrescentar uma pilha de laudas ao lado da sua máquina na rua Irineu Marinho e acertar um aumento de salário.
Amigos de Nelson e Roberto Marinho facilitaram a solução: o Unibanco de Walther Moreira Salles patrocinaria “À sombra das chuteiras imortais” —seu anúncio sairia diariamente no rodapé da coluna. O intermediário nesse acerto foi Bellini Cunha, diretor do banco e amigo de Marcelo Soares de Moura e, agora, também de Nelson. E o Banco Nacional, através de José Luís Magalhães Lins, patrocinaria a nova coluna de Nelson — a qual, como não poderia chamar-se “Memórias”, seria “As confissões”. Nelson receberia uma comissão por esses patrocínios (mais do que o dobro do seu salário). Pela primeira vez em anos, sentia-se livre da ameaça de ir para a esquina “de periquito e realejo”.
A primeira “Confissão” saiu a 4 de dezembro de 1967 e tratava do assassinato de Pinheiro Machado em 1915, pouco antes de a família de Nelson vir para o Rio. Com a morte de Pinheiro Machado morria também o fraque e — era o que Nelson queria dizer — toda uma época.
Naqueles últimos dias de 1967, Nelson olhava em torno e tinha seus motivos para constatar que, mais uma vez, uma época estava morrendo. Todos os seus valores a respeito de sexo, amor, família, religião, política e até teatro pareciam estar ganhando um halo azul, como se mofassem. Poucas semanas depois, 1968 entrou em cartaz e, súbito, foi como se houvesse a conscientização instantânea e planetária de toda uma geração sobre o “momento histórico” que se vivia. Poucas épocas foram tão apaixonadas por si mesmas quanto 1968. Ninguém ousava desafiá-la.
Exceto Nelson nas “Confissões”. Elas deixaram rapidamente de ser uma continuação das “Memórias” para tornar-se uma zona de combate entre Nelson e o mundo em rápida transformação.
Sexo, por exemplo. Seu táxi passava todo dia pela orla, do forte de Copa-cabana ao Leme, e ele não se conformava com que a menina linda, de biquíni, vinda do mar (“as gotas se estilhaçavam nas suas costas, o ventre perfeito”), não merecesse do crioulo que lhe vendia o “Grapete” nem a “esmola de um olhar”. O sujeito destampava a garrafinha e, enquanto a garota bebia pelo gargalo, o outro olhava para o infinito com um tédio idem. O que Nelson queria dizer era que, até há pouco, as duas coisas seriam impossíveis: a nudez e o tédio. E não se conformava com isso.
“Eu me recuso a reagir como o crioulo do ‘Grapete’ “, dizia.
Sua briga com o teatro de esquerda era antiga e, desde a polêmica com Vianinha em 1961, mais do que pública. Mas agora o inimigo não era apenas o teatro quadrado e convencional de esquerda — embora a este Nelson ainda reservasse uma ou outra farpa: “O teatro levou quatrocentos anos para passar de Shakespeare a Dias Comes”. O novo inimigo era o teatro “de agressão”, inaugurado pela montagem de “O rei da vela”, de Oswald de Andrade, por José Celso Martinez Correa.
O sucesso de estima e de público de “O rei da vela” em 1967 estomagou Nelson. Todos pareciam acreditar que aquilo vinha “superá-lo”. Os intelectuais se apaixonaram pelo espetáculo — e o pior, para Nelson, eram os motivos. Pela primeira vez no Brasil, um espetáculo era posto nas nuvens pelo mesmo motivo que os dele sempre tinham sido condenados: por pretender-se extraordinariamente agressivo. E José Celso era como a “Continental”, estava em todas. Não podia ver um repórter de “Bic” em punho sem disparar:
“Precisamos institucionalizar a anticultura, o mau gosto, a esculhambação, a grossura. Não faz sentido tentar despertar a consciência nacional com a cultura capenga que nos rodeia. É preciso pôr tudo abaixo e começar de novo. O teatro pode dar a sua parcela de má consciência e má educação. Ele deve promover em cada peça um estupro cultural!”
Nelson nunca esperou que uma peça sua despertasse a “consciência nacional”. Ficaria satisfeito se ela despertasse uma ou outra consciência individual. Foi ver “O rei da vela” e, para seu alívio e desaponto, não se sentiu agredido ou estuprado.
“No fim de duas horas e meia, saímos, eu e outros, intactos”, escreveu. “Éramos quatrocentos sujeitos e não havia, entre nós, um único e vago agredido.”
Ficou até pesaroso ao ver a platéia aplaudir de pé os palavrões, como se ela, a platéia, estivesse “arrotando a sua satisfação burguesa” — exatamente o contrário do que José Celso se propunha. “Por aí se vê como falhou o sonho de uma platéia esbugalhada, horrorizada”, disse Nelson. Sentia-se com autoridade para zombar do espetáculo: durante vinte anos ele fora o “único autor obsceno do Brasil”, sofrera a mais massacrante campanha que um teatrólogo podia suportar, tivera quatro peças interditadas, fora vaiado duas vezes no Municipal (com “Senhora dos afogados” e “Perdoa-me por me traíres”) e despertara um motim de maridos na platéia em “Beijo no asfalto”.
Magoou-o também o repentino endeusamento de Oswald de Andrade como o “inventor” do teatro brasileiro moderno — como se lhe estivessem dando um piparote para o lado, entronizando no seu lugar o modernista morto em 1954. “O rei da vela” realmente era anterior a “Vestido de noiva”: fora publicado em 1937, mas ninguém tomara conhecimento. Montado agora pela primeira vez, trinta anos depois de escrito, vinha arrombar uma porta aberta. E quem disse que o que se via no palco era Oswald de Andrade? Uma coisa eraler em livro aquela coleção de “sketches” e outra, bem diferente, era vê-la em cena com a direção de José Celso. Nelson foi ainda mais rigoroso: “Se lhe retirarem os palavrões enxertados, ‘O rei da vela’ não fica de pé cinco minutos”, escreveu.
A Nelson incomodava aquela politização desenfreada que penetrava por todos os poros. O teatro não fazia mais teatro, fazia política. Achava aquilo tão incongruente quanto se, de repente, o Congresso interrompesse a sessão e os deputados e senadores começassem a representar “Pluft, o fantasminha”, de Maria Clara Machado.
Naquele fim de 1967, Nelson ainda foi convidado a participar de um “seminário” de teatro em São Paulo. Achou que fossem falar de texto, direção, cenografia. Mas o tema era política. Um incauto se levantou lá atrás e fez uma pergunta sobre dramaturgia. Segundo Nelson, só faltaram fuzilar o infeliz. O chefe da mesa disparou:
“Pensa que nós estamos aqui para discutir teatro?”
Com a radicalização política de 1968, os palcos viraram palanques: mais do que a turma do cinema ou da música popular, o pessoal do teatro sentia-se ungido de uma responsabilidade total na resistência aos militares. Encenavam-se mais assembléias do que peças. E Nelson não fazia segredo de sua opinião sobre isso:
“Não ando em comissão, nem em manifesto, nem em maioria, nem em unanimidade.”
Tinha horror àquele grupismo compulsivo, onde “cada qual é ninguém”. Até os textos das peças tinham agora quatro ou cinco autores, como os do grupo “Opinião”. O coletivismo chegava à própria criação, como se ninguém mais tivesse o direito de pensar sozinho, escrever sozinho. Mas fosse você ser contra essas coisas nas mesas do “Paissandu” ou do “Zeppelin”. Como era inevitável, todos os grupos de teatro se juntaram na aversão a ele, quase transformando-o num pária dentro da sua própria categoria. O único autor jovem que ainda ousava dizer-se seu fá era Plínio Marcos.
Mas Nelson abriu um parêntesis no seu código e, sob um sol de 39 graus, em fevereiro de 1968, sentou-se de terno e gravata nas escadarias do Teatro Municipal, na manifestação “Cultura contra censura”. Era um protesto da classe teatral contra a recente proibição de oito peças, a insólita “suspensão” por trinta dias da atriz Maria Fernanda e os insultos do façanhudo chefe da Censura, general Juvêncio Façanha, às atrizes (a quem chamara de “vagabundas”). Todos os espetáculos em cartaz no Rio declararam-se em greve por três dias e os nomes mais estrelados da categoria foram para a vigília na Cinelândia, com faixas e cartazes. Havia radiopatrulhas nas proximidades, embora o gesto mais tresloucado tenha sido o de um ator que subiu à estátua de Carlos Gomes e amordaçou-a.
Nelson estava ali a convite de Vianinha, de quem nunca deixara de gostar. Não havia nenhuma peça sua entre as oito proibidas. Muitos entre as centenas de jovens manifestantes na Cinelândia olharam-no como a uma relíquia obsoleta, alguém que acabara de ser tirado do fundo de um baú. Houve também os que o olharam com hostilidade. Não imaginavam que ele estava participando de um gesto que a esquerda nunca fizera por ele: protestar contra a proibição de qualquer de suas peças.
Gerada na manifestação, uma comissão do teatro foi recebida pelo ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva, no antigo prédio do ministério no Rio. Nelson fazia parte da comissão, que também incluía Fernando Tôrres, Walmor Chagas e Paschoal Carlos Magno. O ministro, mais conhecido por “Gaminha”, prometeu à comissão que “o teatro era livre”, nenhuma outra peça seria proibida. No dia seguinte, Nelson relatou o encontro numa das “Confissões” mais irônicas que já escreveu — e em que deu a entender, com todas as letras, que se “Gaminha” não cumprisse sua palavra não passaria de “um contínuo com direito a cafezinho, água gelada, automóvel grátis e casaca”. Pois “Gaminha” não o desapontou: mal a comissão virou as costas, as peças voltaram a ser proibidas e, no dia 13 de dezembro daquele ano, “Gaminha” seria mais contínuo do que nunca — através dele, baixaria-se o AI-5.
Uma das peças proibidas em seguida à promessa de “Gaminha” foi “Toda nudez será castigada”, três anos depois de já ter sido levada no Rio, em São Paulo, Porto Alegre e Salvador. A interdição surgiu quando um grupo tentou montá-la em Natal, RN. Pela primeira vez correu-se um manifesto a favor de Nelson e que teve as assinaturas de Tônia Carrero, Maria Della Costa, Vianinha, Henriette Morineau, Eva Tudor, Sandro Polloni, Aurimar Rocha, Bárbara Heliodora e muita gente boa. Mas Nelson não ficou satisfeito: esperava que Alceu Amoroso Lima o assinasse.
“Todo dia hei de comprar o ‘Jornal do Brasil’. Quero ver o nosso Tristão de Athayde, com a sua nobilíssima indignação, fulminar o crime contra a inteligência”, escreveu.
Era só uma provocação, naturalmente, porque sabia que Alceu — sempre solidário com as peças de “esquerda” proibidas — não lhe daria esse prazer.
Nem poderia. Durante todo o ano de 1968, Alceu foi personagem quase diário das “Confissões”, dividindo os holofotes apenas com dom Helder Câmara. Alceu era colunista do “Jornal do Brasil”; dom Helder, àquela altura, arcebispo de Recife e Olinda. Os dois simbolizavam para Nelson a nova Igreja Católica que “pedia perdão pelos seus dois mil anos” e que trocava a vida eterna pelo “paraíso socialista”. Alceu e dom Helder eram também grandes favoritos entre o “Poder jovem”, a massa de adolescentes que, de Pequim a Nova Iguaçu, acreditava sinceramente que iria dominar o mundo em 1968. Nelson abriu guerra nas três frentes: contra Alceu, dom Helder e o “Poder jovem”.
Ninguém poderia ter opiniões politicamente mais antipáticas numa época em que toda a “intelligentsia” brasileira parecia ter se radicalizado à esquerda. Alceu e dom Helder, ex-integralistas e, agora, neo-socialistas, eram admirados pela coragem com que se opunham aos militares. Nelson via neles outra coisa: em Alceu, um velho oportunista tentando adular a juventude; em dom Helder, um insaciável apetite promocional, um “globe-trotter” de si mesmo. Quanto aos jovens de 1968 (a quem Alceu atribuía a “razão da idade”, desculpando-os por qualquer besteira que fizessem), Nelson não os achava acima de críticas apenas por terem nascido em 1952.
Havia muito de pessoal nos seus ataques, mas estes tinham a ver com a sua idéia de coerência. Não conseguia entender, por exemplo, que um homem com um passado absolutamente reacionário como Alceu pudesse agora ser levado a sério ao classificar a revolução soviética como o “maior acontecimento do século”. Nelson desencavou um livro de Alceu, “Indicações políticas”, de 1936, em que o mestre proclamava a sua “mais viva simpatia pelo fascismo e por toda essa moderna reação das direitas, que mostraram a não-inevitabilidade do socialismo”. Como se podia mudar de chapa com tanta simplicidade?
Nelson julgava ter a resposta: em 1936, Alceu admirava o totalitarismo de direita; em 1968, o totalitarismo de esquerda. Nelson escreveu na época:
Dirão os idiotas da objetividade que [Alceu] passou da direita para a esquerda. Não é exato. Historicamente não existe mais esquerda. O que estamos vendo, com o socialismo, comunismo ou que outro nome tenha, é a direita, na sua forma mais inumana, bestial, demoníaca.
Em 1992, tal parágrafo seria endossado por muita gente, inclusive pelos batalhões de ex-marxistas. Mas, em 1968, escrever isso era o mesmo que condenar-se à morte em vida. E Nelson enumerava os milhões de mortos de “fome punitiva” por Stalin, o pacto germano-soviético às vésperas da Segunda Guerra (que obrigara os comunistas brasileiros a dar vivas a Hitler por uns tempos) e os recentes intelectuais soviéticos dissidentes, internados em hospícios — para concluir que, ao contrário do que pensava Alceu, o maior acontecimento do século fora “o fracasso daquela mesma revolução”.
Essa coerência, que cobrava de Alceu como se lhe mordesse os calcanhares, Nelson não exigia de si mesmo em relação ao homem que fora um de seus maiores adversários até fins de 1967 — e que agora aparecia como uma de suas admirações: Gustavo Corção. Apenas quatro anos antes, em 1963, Nelson ainda o estava espinafrando e dizendo a seu respeito: “Um homem em que falta a metade satânica não é nada. Um santo sem nenhuma nostalgia do pecado é um monstro de circo de cavalinhos. Por exemplo: o Gustavo Corção. É uma virtude sem brecha, sem racha e sem goteira”. E voltava à sua imagem dos anos 50, a de que, entre ser virtuoso como Corção e roubar galinhas, ele preferia assaltar o galinheiro mais próximo.
Mas o ano de 1967 já estava provocando uma rearrumação no tabuleiro. Corção, colaborador do “Diário de Notícias”, escreveu aquele ano que “cada vez mais admirava Nelson Rodrigues e cada vez menos Alceu Amoroso Lima
Nelson já não lia Corção havia anos e quem lhe chamou a atenção para o artigo foi o amigo comum de ambos, Luís Eduardo Borgerth.
Nelson foi ler o artigo e se deu conta de que, se queria defender uma igreja voltada para a vida espiritual, e não para a luta de classes, passara todos aqueles anos combatendo o inimigo errado. Veio-lhe o embrião de uma idéia que ele desenvolveria depois: “O verdadeiro Alceu é o Gustavo Corção”. Pediu a Borgerth que os apresentasse. Tinham passado décadas se atacando e nunca haviam trocado um olhar.
O encontro de Nelson e Corção deu-se na Casa da Suíça, na Glória, e os dois se atiraram nos braços um do outro. Não se sabe se Nelson enxergou finalmente a “metade satânica” de Corção, mas viu nele, aos 71 anos, uma “alma de menino”. (Nelson estava com 55.) Os agravos e arranca-rabos passados foram esquecidos, em nome de uma profunda afinidade que agora os unia: a defesa do Céu contra as hordas de bárbaros coletivistas que o atacavam.
Quem tivesse essas idéias — e se atrevesse a trocar Alceu e dom Helder por Gustavo Corção — deveria evitar passar pela porta do “Antonio’s”, o restaurante da avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, de onde, segundo Nelson, “as nossas esquerdas guardavam uma sábia distância do Vietnã”. Acontece que Nelson atrevia-se a ir eventualmente ao “Antonio’s”, porque era aonde iam seus amigos — alguns deles, também amigos de Tristão e de dom Helder.
“Mas vocês estão espantados por quê?”, perguntava Otto Lara Resende, quando alguns se queixavam de que Nelson se tornara um reacionário. “O Nelson sempre foi isso, sempre foi assim”, explicava Otto.
De fato, ninguém, a não ser os mais jovens, podia dizer que Nelson aderira aos militares. (Em 1963, Nelson acreditava piamente que o Brasil “ia para o comunismo”. Nada demais nisso, porque os comunistas também acreditavam.) O mais provável, como dizia Otto, é que “os militares tivessem aderido ao Nelson”. Seu anticomunismo já era quase secular e sua implicância com os marxistas brasileiros, a quem chamava de “marxistas de galinheiro”, não era de hoje. Só se alterara ultimamente para acrescentar que “Marx também era marxista de galinheiro".
A implicância com dom Helder realmente começara no episódio de seu casamento com Lúcia. Mas também era verdade que dom Helder mudara muito e sem pedir a autorização de Nelson. Poucos anos antes, por exemplo, o então bispo auxiliar do Rio era compadre de Roberto Marinho, padrinho de seu filho Roberto Irineu e fazia edificantes sermões pela rádio Globo. De repente, a partir de João XXIII, demitira-se de seu papel de “funcionário do sobrenatural” e só falava na reforma agrária e na luta armada — era louvado pela imprensa internacional como “el arzobispo de la revolución” e “il arcivescovo rosso del Brasile”.
Nelson não sabia o que mais o impressionava em dom Helder: se o ator, a vedete, sempre atento a um microfone ou a um “flash” de fotógrafo — ou se o falso padre sob cuja batina ele imaginava ver os pés de cabra do anti-Cristo.
Mas Nelson não se limitava a martelar contra Alceu, dom Helder, o “Poder jovem”, as esquerdas do “Antonio’s” e os “marxistas de galinheiro”. Através das “Confissões”, comprava brigas também com os “padres de passeata” por atacado (tinha horror a padres sem batina, que considerava “vestidos como um anúncio da ‘Ducal’ “); o “Jornal do Brasil” (imaginava ver seu proprietário “amarrado a um pé de mesa e lhe sendo dado de beber numa cuia de queijo ‘Palmira’ “); as estudantes de psicologia da PUC; os sociólogos; as grã-finas “amantes espirituais de Guevara”; as feministas (“Todas as feministas são umas patuscas”); Jean-Paul Sartre e Bertrand Russell (“dois Acácios”); e até Alexandre Dumas filho, o de “A dama das camélias” (preferia Dumas pai, o de “Os três mosqueteiros”). Mas seu pendor polêmico se frustrava porque quase ninguém comprava de volta essas brigas. Nelson Rodrigues era um reacionário, um caso perdido ou, para outros, um palavrão.
Poucos entre os leitores que o odiavam poderiam imaginar que, no dia-a-dia de 1968, ele continuava sendo estimado e até querido por muitos de seus velhos (e novos) amigos de “esquerda”. Eis alguns. O teatrólogo Augusto Boal; o ator Abdias do Nascimento; os escritores Antônio Callado, Carlos Heitor Cony, Franklin de Oliveira e Autran Dourado; o cineasta Arnaldo Jabor; o crítico Sábato Magaldi; o advogado Evandro Lins e Silva; os jornalistas João Saldanha, Paulo Francis, Salim Simão, Oswaldo Peralva, Ib Teixeira, Edmundo Moniz e Gerardo Mello Mourão; o psicanalista Hélio Pellegrino; e até o líder estudantil Wladimir Palmeira.
Não que eles também não se irritassem com o que Nelson escrevia. Mas todos estavam cansados de saber que era do seu estilo alimentar-se periodicamente de certas obsessões. Antes era o Otto, agora era Alceu ou dom Helder. Como dizia Cláudio Mello e Souza, Nelson era uma “flor de obsessão”. E estavam fartos de conhecer a sua imaginação delirante e o seu pendor pelo exagero. Não precisava ser levado a sério, diziam eles.
O principal desses amigos era Hélio Pellegrino. Conheciam-se desde 1953, quando Hélio viera para o Rio. Durante anos Nelson almoçou em sua casa aos sábados. Quando Hélio sofreu um enfarte aos 39 anos, em 1962, Nelson foi visitá-lo todas as noites durante semanas. Achava-o de uma inteligência que às vezes “raiava o insuportável” e admirava-o como poeta (criminosamente inédito). Vivia referindo-se à sua voz de barítono, que tornava profundo até um “Bom dia” que dissesse, e contava que Hélio gostava de contemplar o próprio peito nu ao espelho e dizer: “Vá ser bonito assim no inferno”. Foi por causa de Hélio que Nelson se desfez dos muitos preconceitos que passara a ter contra a psicanálise, e mais ainda ao vê-lo aplicando maciçamente Freud à interpretação de sua obra. (E, sem dúvida, os ensaios de Hélio sobre “Boca de Ouro” e “Beijo no asfalto” eram nada menos que definitivos.)
Os dois sempre tiveram divergências políticas e, na maior parte daqueles anos, isso nunca lhes toldou a amizade. Hélio era um frenético socialista católico, o que Nelson considerava um dilema porque, na sua visão, era impossível alguém ser socialista e católico. E Hélio entendia que o reacionarismo de Nelson era apenas a unção do indivíduo sobre a coletividade. Hélio podia não concordar, mas achava graça na frase de Nelson: “A massa só serve para parir os gênios. Depois que os pariu, volta a babar na gravata”.
E Hélio às vezes se impressionava com certas premonições de Nelson. Na perigosíssima crise dos mísseis em 1962, por exemplo, quando por um instante pareceu que EUA e URSS iriam apertar os botões e partir para o holocausto nuclear por causa de Cuba, Nelson sentenciara na casa do psicanalista:
“A Rússia não vai disparar nem um buscapé por Cuba.”
Nelson só faltou ser vaiado, mas sua teoria confirmou-se horas depois, quando Krushev mandou retirar os mísseis da ilha.
Os dois tratavam-se mutuamente por “a besta do Nelson” e “a besta do Hélio” (e ambos se referiam à “besta do Otto”), todos sabendo que não era para valer. Para Nelson, Hélio era também o “doce truculento”.
Em 1967, Hélio fora enquadrado na Lei de Segurança Nacional por artigos publicados no quarto caderno do “Correio da Manhã”, editado por Paulo Francis. O processo, a que Hélio respondeu em liberdade, estava na 2ª Auditoria da 1ª Região Militar, no Rio. Nelson depôs a seu favor no dia 1º de setembro e, exceto por um ou outro exagero, disse tudo que precisava ser dito.
Afirmou que conhecia Hélio “há mais de trinta anos” (mentira, conhecia-o há apenas catorze) e que ele nunca pertencera ao Partido Comunista. Ao contrário, era católico praticante, tinha sido da UDN mineira, fizera a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes e fora discípulo do (em 1967) vice-presidente Pedro Aleixo. Quanto aos artigos de Hélio, Nelson disse que eles expressavam um “sentimento espiritualista” diante dos “valores da vida”.
Tudo aquilo era verdade, embora Nelson intimamente se assustasse com a audácia dos artigos de Hélio contra os militares no “Correio da Manhã”. Mas os auditores ficaram impressionados e, com os outros depoimentos, Hélio foi absolvido.
Em 1968, as piores divergências políticas ainda podiam ser — e eram — resolvidas em torno das cavaquinhas do “Antonio’s”, regadas a cerveja em lata ou água da bica. As brigas eram democráticas e os amigos não cortavam relações por causa de ideologia. Ainda eram possíveis as brincadeiras, como aquela de um telefonema a três entre Nelson, Hélio e Otto (Nelson numa extensão), em que Hélio começou a dizer cobras e lagartos dos militares, e Otto se assustou:
“Cuidado, Hélio! Esse telefone certamente está sendo escutado.”
“Pois eu não tenho medo desses milicos!”, disse Hélio. “Se houver alguém na escuta, fique sabendo que aqui fala o doutor Hélio Pellegrino, poeta e psicanalista!”
Otto gelou na outra ponta do fio. E mais ainda quando Nelson meteu-se na conversa e emendou:
“E eu também não! Quem fala aqui é o deputado Jubileu de Almeida!” Foi uma pena para todo mundo que aquele ano tão divertido tenha terminado mais cedo: no dia 13 de dezembro, dia do AI-5.
- 1970 - “PRANCHA”
Mas, general, o Hélio é uma cotovia!”, dizia Nelson em março de 1969 para o general Henrique de Assunção Cardoso, chefe do Estado Maior do 1º Exército. “É um homem com alma de passarinho! É meu amigo de infância! Como um homem desses pode ser um perigoso condutor das massas?”
Mary Ventura cutucava Nelson e dizia baixinho:
“Fala do Zuenir! Fala do Zuenir!”
“O Zuenir também é uma cotovia, general! ~ um passarinho sem céu! E também é meu amigo de infância!”
O general não pareceu muito convencido:
“Doutor Nelson, estou disposto a acreditar que o doutor Hélio Pellegrino seja seu amigo de infância”, disse. “Mas tenho informações de que o senhor conheceu Zuenir Ventura na prisão. Como pode ser seu amigo de infância?”
Nelson embatucou. Não esperava por esta. Foi acudido por Maria Urbana Pellegrino:
“Ele está dizendo isso no sentido figurado, general. Quer dizer que teve uma relação tão intensa com Zuenir desde que o conheceu que é como se fossem amigos de infância.”
Assunção Cardoso olhou bem no centro da córnea de Nelson:
“Se eu soltar o doutor Hélio, o senhor se responsabiliza por ele?”
“Perfeitamente, general”, disse Nelson.
“E por Zuenir Ventura também?”
“Perfeitamente.”
Nelson assinou um termo de responsabilidade para cada um. (Depois piscaria para Maria Urbana: “Você é uma Mata Hari!”.) Hélio e Zuenir estavam livres, só não podiam sair do Rio. Tinham passado dois meses presos no regimento de cavalaria Marechal Caetano de Faria, em fevereiro e março de 1969. Zuenir fora apanhado por engano, confundido com um velho comunista também chamado Ventura, mas Hélio soube que seria preso no próprio dia do M-5, 13 de dezembro. Hélio saiu de casa, escondeu-se no apartamento de uma amiga na Glória e passou mais de um mês sem sair à rua. Até que não agüentou mais e ligou para Nelson. Disse que ia entregar-se e queria que ele o acompanhasse.
“Afinal, os mucos ficam lendo essas coisas que você escreve a meu respeito e podem achar que eu sou mais truculento do que doce!”
Nelson apanhou Hélio e foram ao ministério da Guerra, na avenida Presidente Vargas. Recebeu-os o coronel Adir Fiúza de Castro, chefe do CIE (Centro de Informações do Exército) e subordinado direto do ministro da Guerra, general Lyra Tavares. Hélio foi encaminhado primeiro ao DOPS e depois recolhido ao Caetano de Faria, onde passou a dividir a cela com Zuenir.
Fiúza conhecera Nelson casualmente em 1964 e se dissera seu admirador. Assistira a várias de suas peças e gostara de algumas. De “Bonitinha, mas ordinária”, não gostara. Admirava as convicções antimarxistas de Nelson, mas era contra seus “ataques à burguesia”.
"É porque você ainda tem um ranço burguês, coronel”, dissera Nelson. O Exército tinha enorme consideração por Nelson Rodrigues. Em 1969, ele não era o único intelectual afinado com a “revolução”, mas era, disparado, o mais popular. Tinha acesso a toda espécie de meio de comunicação e, ao contrário de outros, não fazia segredo de suas posições. Uma de suas expressões, “padre de passeata”, fizera mais para desmoralizar os padres de esquerda do que dez divisões do Exército, na avaliação de Fiúza. A gratidão das Forças Armadas para com ele era tão grande que qualquer pessoa pela qual intercedesse ficava imediatamente sob uma espécie de proteção especial. Os militares não queriam correr o risco de desagradá-lo e perder um importante aliado.
Nelson visitava Hélio todos os dias no presídio. Zuenir observava essas visitas e achava que eram uma espécie de penitência de Nelson, que devia sentir-se indiretamente responsável pela prisão de seu amigo. Não entendia como o clima da conversa entre eles no Caetano de Faria podia ser aquele: Nelson fazendo piadas com a “esquerda festiva” e Hélio esbravejando contra a ditadura — como se estivessem no “Antonio’s” ou na casa de Hélio.
“Veja você, Hélio”, dizia Nelson. “O Arnaldo Jabor na ‘passeata dos cem mil’, tomando um gigantesco sorvete e gritando ‘Abaixo a fome!’."
Não era um clima de penitência. E nem Nelson teria motivos para sentir-se culpado pela prisão de Hélio — porque já o defendera no processo que tinham movido contra ele em 1967 pelos artigos no “Correio da Manhã” e porque o próprio Hélio não conseguia ser discreto: na “passeata dos cem mil”, no dia 26 de junho do outro ano, 1968, dera uma “banana” pública para os militares, durante o seu discurso em frente à Assembléia Legislativa.
Nelson assistira à “passeata dos cem mil”. Não lá de baixo, da rua, como muitos dos seus amigos, mas pela janela do escritório de um amigo do pintor Raul Brandão, a convite deste, na avenida Rio Branco. Durante o resto do ano, Nelson iria escrever em inúmeras crônicas que não vira “um operário, um preto, um desdentado” na passeata. O mar de gente marchando contra o governo não o impressionara nem um pouco. Dizia-se que tinham sido cem mil. Se fossem duzentas mil, para ele seria a mesma coisa: uma multidão ululante que, amanhã, poderia estar gritando os mesmos slogans, só que ao contrário.
Quem o impressionara fora Wladimir Palmeira, o principal líder dos estudantes cariocas. Nelson passou a admirá-lo. Dois dias depois da passeata escreveu uma “Confissão” em que começava rememorando uma experiência no Maracanã, para terminar em Wladimir:
Era um jogo do Botafogo com o Vasco. Exatamente, a decisão do titulo. E lá fui eu me meter nas arquibancadas. Era uma das quase duzentas mil pessoas presentes. Aconteceu então que, imediatamente, perdi qualquer sentimento de minha própria identidade. Ali, tornei-me também multidão. Esqueci a minha cara, senti a volúpia de ser “ninguém”. Se, de repente, o povo começasse a virar cambalhotas, e a equilibrar laranjas, e a ventar fogo, eu faria exatamente como os demais. E, então, senti que a multidão não só é desumana, como desumaniza.
(Não sei se estou falando demais. Paciência.) La’ estávamos eu e os outros desumanizados. Pouca diferença faria se, em vez de duzentas mil pessoas, fossem duzentos mil búfalos, ou javalis, ou hienas. Há, porém, um momento em que a multidão se humaniza. Sim, em que a multidão se faz homem. E quando tem um líder. Acontece então o milagre: — aquilo que era uma massa pré-histórica assume forma, sentimento, coração de homem. E, ao mesmo tempo, o medo que junta as multidões morre em nossas almas. Já não sentimos o medo, o velho, velhíssimo medo das primeiras hordas dos primeiros homens. O líder tem coragem por nós, e ama por nós, e sofre por nós, e traz a verdade tão sonhada.
Mas há uma dessemelhança entre o líder e os que o seguem: — nós somos multidão e ele, nunca. Como no texto ibseniano, ele é o que está “mais só”. Todos os seus gestos, e palavras, e paixões, e sonhos, amadureceram na solidão.
Nelson viu esse líder em Wladimir Palmeira. A “Confissão” terminava assim:
Só o vi na passeata. E fiz a fulminante constatação: é, sim, um líder. Imaginem um jovem que sobe num pára-lama e, com um gesto, e antes da palavra, faz a unanimidade. Eu o vi trabalhara multidão. Dizia: — “Vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro”. Até pessoas que não tinham nada com a passeata, simples transeuntes, entravam na disciplina. Mesmo os inimigos da passeata eram tocados e convencidos. E foi impressionante no fim da marcha. De repente, Wladimir falou (com irresistível simplicidade, sem nenhuma ênfase). Disse: — “Estamos cansados”. Ninguém estava cansado. E completou: — “Vamos sentar”. E todos sentaram, como na passagem bíblica (Não há tal passagem bíblica. Desculpem.) Assim ficamos, sentados, como se estivéssemos de joelhos. Senhoras, mocinhas, intelectuais, estudantes, avós, cada qual se sentou no meio-fio, no asfalto, na calçada. E foi um maravilhoso quadro plástico. Não sei, ninguém pode saber, qual será o destino desse rapaz. Mas sei que é esta coisa cada vez mais rara: — um homem.
Nelson queria saber qual seria o destino último de Wladimir. O Exército preferia saber o seu paradeiro imediato. Terminada a passeata, logo depois de incendiada uma bandeira americana, os seguranças de Wladimir o enfiaram num carro na praça Quinze e desapareceram com ele antes que o prendessem. Mas Wladimir acabaria sendo preso no dia 12 de outubro, junto com outros 1240 estudantes que participavam do congresso da UNE em Ibiúna, SP. Sua asma o impediria de fugir. Em dezembro haveria o AI-5 e ele iria responder a processo na 2ª Auditoria da Marinha. Uma das testemunhas convidadas pelo advogado Marcelo Alencar a depor a seu favor foi Nelson.
Em seu depoimento no tribunal militar, no dia 8 de maio de 1969, Nelson disse que Wladimir era “moderado e idealista”; que “evitara excessos de seus colegas contra o ‘Jornal do Brasil’ na passeata”; e que, pelo que sabia, “a ‘passeata dos cem mil’ fora permitida pelas autoridades”. Disse também que Wladimir “sempre estivera contra o comunismo” e que “nunca tomara nem pregara atitudes extremistas”.
Antes que o acusassem de perjúrio, encerrou seu testemunho e depois sussurrou rindo para seu filho Joffre, que o acompanhara:
“Meu Deus, como eu menti bem!”
Antes de ir embora, Nelson falou com Wladimir e perguntou várias vezes como estava sendo tratado. E, sabendo que Wladimir era Fluminense, perguntou também se estava vibrando com o novo artilheiro do tricolor, o centroavante Flávio. Os dois se abraçaram, Nelson se despediu, Wladimir foi chamado a depor, fez um discurso no tribunal militar pregando a luta armada e Marcelo Alencar quis arrancar os cabelos.
Por que Nelson teria ido depor a favor de Wladimir se as passeatas estudantis, das quais Wladimir era uma espécie de Ziegfeld, não lhe despertavam a menor simpatia? Pelo seu potencial de indivíduo, pela vocação napoleônica que Nelson via em tão poucos — era o que dizia a amigos. Quanto às manifestações, Nelson achava que, sendo o estudante brasileiro um privilegiado, as passeatas fariam muito mais sentido se fossem de analfabetos reclamando instrução. Além disso, não aceitava a insistência dos estudantes em protestar em espanhol. Um dos cartazes na passeata dizia “Muerte!”. Fora pintado pela estudante da ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial) Ana Luisa Escorel e provavelmente tinha uma inspiração mais “tropicalista” que política. Mas Nelson usou aquilo como motivo de caricatura e vivia perguntando:
“Por que gritam ‘Cuba! Cuba!’ e não ‘rua do Ouvidor! rua do Ouvidor!’?”
Não que Nelson tivesse algo contra o “Tropicalismo”. Em setembro de 1968, vira pela televisão Caetano Veloso desafiando sozinho o coro “feroz, unânime e obsceno” da platéia do TUCA, em São Paulo, que queria proibi-lo de cantar “É proibido proibir” durante um festival da canção. Numa “Confissão” sobre aquele festival, Nelson elogiara o “bravo troco” do cantor, que “silenciara a obscenidade da platéia”, por sinal de esquerda. Via ali um seu velho conhecido: o homem só contra a unanimidade dos búfalos, dos javalis. Três meses depois, Caetano e Gilberto Gil foram presos em São Paulo, trazidos para o Rio e correram rumores de que estavam sendo torturados. No começo de 1969, Nelson almoçava com José Lino Grünewald no “Nino”, na rua Bolívar, quando um amigo de ambos aproximou-se:
“Nelson, o general Albuquerque Lima, ali na minha mesa, está louco para te conhecer.”
Albuquerque Lima era ministro do Interior de Costa e Silva e forte candidato à sucessão do marechal. Nelson respondeu que seria um prazer. O amigo foi à sua mesa e buscou o militar.
“Nelson, aqui está o general Albuquerque Lima. Ele é seu grande admirador.”
Para surpresa de todos, Nelson emendou de primeira:
“Então por que essa perseguição? Por que prenderam o Caetano Veloso e o Gilberto Gil?”
Albuquerque Lima não esperava por isso. Murmurou alguma coisa, reafirmou a admiração e preferiu voltar para sua mesa.
Essa faceta de Nelson era completamente desconhecida do público e até da maioria dos seus conhecidos. O que contava era o que ele publicava nas “Confissões”.
“O Nelson Rodrigues político é uma caricatura do Nelson Rodrigues real”, costumava dizer o jornalista Hermano Alves, antigo personagem de “Asfalto selvagem”.
Queria dizer com isso que o reacionário atroz nada tinha a ver com o bom sujeito que ele conhecia e que, sem dúvida, usava os mesmos ternos, sapatos e gravatas porque o Nelson Rodrigues real vivia distraído. Nos primeiros meses de 1969, Hermano, que fugira às pressas do Brasil depois do AI-5, vira-se exilado em Argel, capital da Argélia, sem dinheiro para se manter. Os outros brasileiros que haviam chegado antes não podiam fazer muito por ele. Hermano Alves teve de recorrer ao Brasil.
Seu antigo companheiro no “Correio da Manhã”, Salim Simão, foi um dos que passaram o chapéu. E um dos amigos a quem Salim pediu dinheiro foi Nelson. Hermano não estava em condições de perguntar qual dos Nelson Rodrigues lhe mandara o dinheiro: se o político, se o real. Apenas aceitou-o.
Salim Simão era quase tão fanático brizolista quanto botafoguense. Nelson conheceu-o no “Correio da Manhã” em 1967, embora Salim tivesse sido “foca” em “Crítica” poucos meses antes do empastelamento, em 1930. Mas Nelson, se o vira no jornal de seu pai, não podia lembrar-se dele — Salim tinha então treze anos. Torcer por Brizola em 1967 era algo quase tão exótico, tanto para a direita como para a esquerda, quanto torcer pelo Canto do Rio. Não para Salim, que era de uma fidelidade de pequinês aos amigos e conseguia conciliar em sua estima os piores adversários entre si. Por exemplo, algumas das suas maiores admirações eram os anti-Nelson Rodrigues por excelência: Alceu, dom Helder e Oscar Niemeyer. E a outra era o próprio Nelson.
“O, Nelson”, ele perguntava aos berros, “o que você tem contra o Niemeyer?”
“O povo tem horror às invenções plásticas do Niemeyer, meu bom Salim”, respondia Nelson. “Abomina. O povo gosta mesmo é do prédio do ‘Elixir de nogueira’, ali na Glória, perto do relógio.”
E quanto às opiniões de Nelson sobre Alceu e dom Helder, nem era preciso dizer. “Dom Helder só olha para o céu para saber se leva ou não o guarda-chuva”, dizia Nelson. Salim rugia em defesa do bispo. Mas isso servia apenas como combustível para a amizade entre os dois, igualmente loucos por uma polêmica. Além disso, Salim sabia que havia muito mais piada que rancor nos insultos de Nelson. E Nelson era fascinado pela “espontaneidade animal” de Salim e o chamava de “O berro” porque ele só sabia falar a plenos pulmões. Outro amigo de ambos, Hélio Pellegrino, dizia que Salim “ardia como um sírio”, num trocadilho com a sua origem.
Quem visse Nelson e Salim almoçando juntos (o que passara a acontecer quase todo dia depois de 1968) acharia que eles estavam se desfeiteando. Mas, se fosse ouvir a conversa, constataria que estavam discutindo o campeonato carioca de 1924, o comportamento de suas coronárias (Salim também era cardíaco) ou, literalmente, o sexo dos anjos, nos quais ambos acreditavam.
Os almoços com Salim Simão e com outros do pequeno círculo que Nelson chamou de seus “irmãos íntimos” passaram a ser o principal assunto das “Confissões” a partir de dezembro de 1968, depois que o ÁI-5 engrossou qualquer possibilidade de discussão política. Nem todos repararam, mas a marcação cerrada de Nelson sobre Alceu diminuiu por um bom tempo e o nome de dom Helder quase desapareceu. E nem ficava bem citá-lo, já que no índex que o governo distribuíra às redações — de nomes que não poderiam sair nos jornais—, o de dom Helder era dos primeiros.
E então Nelson passou a falar mais do “Young Flu”, a jovem torcida tricolor capitaneada por Nelsinho Mota e Hugo Carvana; dos aniversários de José Lino Grünewald, que se dizia um “neopagão”, mas a quem Nelson atribuía uma “alma de eterno primeiro-comungante”; da generosidade de “Onassis de tanga” de Hans Henningsen, cujo nome Nelson não conseguia pronunciar e por isso chamava-o de “Marinheiro sueco”, embora Henningsen fosse espanhol; da comida mineira que Marcello Soares de Moura oferecia em sua casa aos sábados; do “perfil de senador do Império” de Francisco Pedro do Coutto; dos suspensórios coloridos de Walter Clark etc. Apesar da leveza dos assuntos, Nelson conseguia produzir páginas magistrais, que levaram Caetano Veloso a afirmar em 1969 que Nelson dizia “coisas lindas sobre a alma lírica dos brasileiros”, como ele escreveu do exílio em Londres para “O Pasquim”.
O próprio Otto passou a ser menos mencionado nas “Confissões”. Uma das vezes foi quando Nelson explicou a origem da expressão “óbvio ululante”. Segundo ele, a imagem lhe fora inspirada pela descoberta do Pão de Açúcar por Otto.
Durante décadas a pedra ululava para Otto quando ele passava diariamente pela praia de Botafogo. Otto julgava-se conhecedor da paisagem — era íntimo da enseada, das estacas “Franki”, das carrocinhas de “Chica-bon” —, mas nunca enxergara o Pão de Açúcar. E, de repente, enxergou-o. Ao frear, quase capotou. Saiu do carro julgando ter visto uma alucinação. O que era “aquilo”? Não estava lá na véspera, tinha sido acrescentado ao cenário durante a noite. Uma senhora que passava teve de abaná-lo. E então Nelson explicava: o encontro com o óbvio é sempre uma experiência vital, plástica, inexcedível. Talvez por ser tão raro. “Só os profetas enxergam o óbvio”, disse.
Evidente que isso nunca aconteceu e era apenas mais um tópico no folclore que Nelson criou em torno de Otto, e que tanto irritava a este. Nelson popularizou a expressão “óbvio ululante” na televisão e passou a ser abordado na rua pelos “desconhecidos íntimos” que lhe gritavam:
“Ei, ‘óbvio ululante’!”
Um ou outro arriscava: “Está certa a pronúncia?”.
Entre os objetos que Nelson levou na mão, quando saiu de seu apartamento com Lúcia e voltou para a “sala íntima” de sua mãe em 1969, estava um porta-retratos com a foto de Daniela. Seu casamento com Lúcia chegara ao fim. Tinham passado oito anos juntos, seis deles sob o mesmo teto.
Muitos fatores contribuíram para aquele fim. Da parte de Lúcia, ela não conseguia contornar as pressões que ainda pulsavam contra eles. Seus pais apenas cumprimentavam Nelson, mas não lhe tinham o menor apreço. O problema de Daniela era permanente e angustiante. Nelson saia, ia para o Maracanã, jantava com os amigos e voltava tarde. Ela tinha de ficar por causa da menina. Saíam à noite às vezes, mas jamais podiam viajar, mesmo que ele quisesse. E havia a irritante desorganização financeira de Nelson.
Por mais que ganhasse, estavam sempre aos sobressaltos. Quando começara a história do patrocínio das colunas, ela tentara guardar uma parte do dinheiro no “Fundo Crecinco”. Mas Nelson tinha sempre uma desculpa para sacar. Pediam-lhe dinheiro de todas as partes e ele não sabia negar. Sua generosidade às escondidas era inacreditável para os que o tinham na conta de pão-duro. Fosse tão pão-duro quanto o achavam, estariam vivendo melhor. E não é preciso saber muitas intimidades para imaginar que espécie de problemas roem por dentro e por fora um casamento. Aliás, que casamento? Elza não dava o desquite a Nelson — para todos os efeitos, ela seria sempre a senhora Nelson Rodrigues.
Da parte de Nelson também havia um sentimento de desgaste. Seu apartamento era um entra-e-sai de enfermeiras por causa de Daniela. Tinha pouco espaço para trabalhar em casa. Aos 57 anos sentia-se mais velho do que nunca, como confidenciou a Joffre. E, pensando bem, ele e Lúcia nunca puderam desfrutar a permanente lua-de-mel que haviam se prometido em 1961. Os dois viviam agora numa paz de irmãos, mas não tinha sido para isso o casamento. A separação deu-se sem traumas, sem uma palavra mais alta, sem um rancor.
Lúcia sentiu que essa separação era inevitável porque Nelson não conseguia respirar fora de um estado de paixão. Mas só teve certeza quando lhe perguntou:
“O que está havendo, Nelson? Namorando?”
E ele, com grande simplicidade:
“Estou.”
Poucas semanas antes, Nelson estivera internado no Instituto de Cardiologia, na rua Canning, em Ipanema. O médico suspeitara de uma insuficiência coronária e o fizera subir e descer escadas antes do exame, para ver como ele reagia. Nelson fez o que o médico mandou, mas, depois de repetir a operação algumas vezes, rebelou-se:
“Não subo mais um degrau!” — e, olhando para o teto, citou com voz súplice um sucesso em voga no rádio: “Jesus Cristo, eu estou aqui!”.
Nelson ficou de repouso na casa de saúde por alguns dias. Numa das visitas que lhe fez Heleninha, sua secretária em “O Globo”, ele pediu a uma de suas irmãs que perguntasse a ela:
“O Nelson está se separando e quer saber se você gostaria de ir morar com ele.”
Helena Maria (Heleninha, como a chamavam) tinha 22 anos — 35 a menos do que Nelson. Era pequenininha, morena, vestia-se como alguém ainda mais jovem. Dava uma espécie de assistência a Nelson no jornal: conversava com ele sobre os assuntos do dia para ajudá-lo a escrever as “Confissões”, filtrava os telefonemas e tentava brecar a fila de pessoas que o procuravam na redação.
Às vezes “editava” uma ou outra coluna já publicada, quando Nelson estava doente e não podia escrever — mudava o título, alterava uma data, trocava um tempo de verbo e a coluna podia sair de novo. Estava a seu serviço havia alguns meses quando notou que Nelson a olhava diferente. Pensava saber o que era — o óbvio —, mas nunca que Nelson a convidasse a morar com ele.
Por que não aceitar?, ela pensou. Admirava-o e aprendera a ter afeição por ele. Nada de ruim poderia acontecer-lhe. E o que havia de mal naquele arranjo (não seria exatamente um “casamento”) se os dois se dessem bem?
Nelson saiu do apartamento na Visconde de Pirajá, passou alguns dias na “sala íntima” do Parque Guinle e alugou um pequeno apartamento na rua Rita Ludolf, no Leblon. Heleninha foi com ele. Mas passaram poucos meses ali. No começo de 1970, ela o convenceu a alugar uma casa de verdade na rua Professor Mauriti Santos, no Cosme Velho, com vista para o sopé do Corcovado. Era uma casa de dois andares, com a frente pintada de rosa e fora desocupada há pouco por um consulado. Já vinha com tudo dentro — quadros, móveis, faqueiro, porcelana —, mas o melhor era a vista que se tinha da varanda: um panorama que Nelson chamava de “sua hiléia amazônica”
Os amigos nunca entenderam por que Nelson precisava morar naquela casa tamanho família e ele também não explicava. Mas a casa já não parecia tão exagerada depois que Heleninha encarregara-se de povoá-la com sua família:
levou seu filho, Paulo Sérgio, cinco anos, de um primeiro casamento; sua mãe, dona Catarina; e, de certa forma, seu irmão Anel, que servia como motorista de Nelson e dormia na casa com freqüência. E, um ano depois, haveria as enfermeiras de que Nelson precisaria e que se revezariam em turnos.
O próprio Nelson usava apenas metade da casa ou menos. Seu quarto ficava no primeiro andar, o de Heleninha no segundo e ele nunca subia as escadas. Foram obrigados a ter um cachorro, do qual Nelson se pelava de medo. Saíam muito para jantar (quase sempre no “Nino”), mas o desconforto de Nelson, de ser visto em público com uma mulher tão jovem, era evidente. A imagem do “tarado” já ficara para trás, mas nunca se sabia. No começo de 1970 foram a São Paulo para assistir à montagem de uma peça de Nelson. Mesmo ali, longe dos conhecidos, ele não lhe dava o braço na rua e se atrasava de propósito para que ela ficasse um ou dois passos à frente. Sábato Magaldi, que estava com eles, perguntou a Nelson por que isso. Nelson respondeu, entre sincero e malicioso:
“Porque eu tenho vergonha.”
Muitas vezes, era Heleninha que se sentia pouco à vontade entre os amigos de Nelson. Como na vez em que, no “Nino”, ao tomar uma sopa “Vichissoise” pela primeira vez, ela gostou tanto que dispensou o prato principal e a sobremesa, preferindo mais duas “Vichissoises”. Os amigos de Nelson apenas a olharam, mas ela percebeu.
Pior foi o seu diálogo com a mulher de um “irmão íntimo” de Nelson, perita em poesia e literatura francesa, em casa destes. A certa altura a anfitriã perguntou-lhe com ar casual:
“Então você nunca leu Flaubert?”
Heleninha tartamudeou que não. E a outra:
“Mas certamente já leu Baudelaire.”
Diante de novo não (Heleninha já querendo esconder-se atrás das almofadas), a esposa do “irmão íntimo” riu:
“Se nunca leu Flaubert e nunca leu Baudelaire, então você nunca contemplou as termas de Caracala e nunca comeu ‘escargot!’ "
O embaraço de Nelson por Heleninha dissolvia-se em letra de fôrma. Numa “Manchete” daquele ano, ele admitiu que tivera três “amores eternos” em sua vida. Não disse quais seriam os outros dois, mas afirmou que o terceiro era por Heleninha. E, nos livros que lhe dava, as dedicatórias eram daquelas, arrebatadas. Em “O óbvio ululante”, sua primeira e sensacional coletânea de “Confissões”, ele escreveu: “Para Helena Maria, meu amor de seis mil anos”. E, em “A cabra vadia”, que acabara de sair: “Com um amor para além da vida e da morte”.
Para Nelson, a vida e a morte nunca estariam tão íntimas e vizinhas entre si como naquela casa do Cosme Velho. Ali começaria o longo e dramático episódio de seu filho Nelsinho.
Aos onze anos, em 1956, Nelsinho insistira em estudar no Colégio Militar, na Tijuca. Nelson fora contra, mas o menino estava inflexível: queria ser aviador. Cursou lá o ginásio e o científico, mas nunca se adaptou às exigências da disciplina do colégio — ligeiramente drásticas para um garoto que, fora das aulas, ainda disputava guerras de cajá-manga na rua Agostinho Menezes. Em 1964, aos dezenove anos, Nelsinho desistiu de ir para a Aeronáutica, fez o vestibular de engenharia, passou e foi estudar no Fundão.
Seu pai tinha saído de casa em 1963 para ir viver com Lúcia. Curiosamente, foi aí que pai e filho se aproximaram. Joffre fora para a Itália estudar cinema e Nelsinho o substituíra como motorista de Nelson. Levava-o todo dia ao apartamento do Parque Guinle para o almoço em família e ouvia fascinado as tremendas discussões políticas à mesa. A situação estava fervendo: Jango recuperara seus poderes presidenciais com um plebiscito, o deputado Leonel Brizola falava em “mandar brasa” e havia agitações no campo, nas fábricas e, em 1964, até dentro das Forças Armadas. O governador da Guanabara era Carlos Lacerda, amigo de seu pai e, agora, até de seu tio Mário Filho — Lacerda finalmente convencera-se de que o Maracanã ficara melhor ali mesmo, no Maracanã. Todos os Rodrigues eram Lacerda ou Juscelino — ou quase todos.
O único “esquerdista” à mesa era tio Milton, seu padrinho. Não era impossível que Milton fosse até simpatizante do “Partidão”. Pelo menos, defendia as “reformas de base” e repetia as palavras de ordem daquele tempo. Mas era uma mesa democrática: todos brigavam e ninguém se irritava ou ficava de mal. O fiel da discussão era Mário Filho: quando os ânimos esquentavam, ele fazia um gesto como quem pede a palavra, levava o “Ouro de Cuba” à boca e os irmãos ficavam mudos e paralisados, esperando a baforada que antecederia a palavra mais sábia e esclarecedora. Mário Filho usava o charuto como uma arma da oratória. E, quando falava, sempre de maneira equilibrada, os outros sossegavam.
Mas Nelsinho não estava sossegado. Era quase impossível ser jovem sem se sentir lesado naqueles anos pós-1964 — toda a sua geração fora excluída da vida política nacional, como se faz com um siso incômodo. No caso, muitos sisos. Não que ele quisesse envolver-se em política, apenas não queria ser proibido de se envolver. E, entre o pessoal das ciências exatas, a Faculdade de Engenharia era das mais inquietas do movimento estudantil. Em 1968, no último ano do curso, ele participara de algumas passeatas e fora dos poucos a não se surpreender com a “Confissão” de seu pai sobre Wladimir Palmeira.
“Wladimir é autêntico, não está brincando”, dizia-lhe Nelson.
Em 1969, com todos os canais políticos já fechados pelo ÁI-5, os estudantes desmantelados e um cheiro de pólvora no ar, Nelsinho passou de março a setembro fora do Brasil. Viajara com sua turma da Engenharia para um longo périplo de aperfeiçoamento técnico na Europa. Estivera em 21 países, entre os quais vários do Leste europeu: URSS, Polônia, Tcheco-Eslováquia e Hungria. De lá, ouvia notícias vagas do Brasil: Costa e Silva sofrera uma trombose, fora substituído por uma junta militar, o embaixador americano havia sido seqüestrado, o novo presidente seria um general chamado Médici. Voltou poucos dias antes da posse de Médici. O pau estava comendo e já havia diversos grupos clandestinos atuando na luta armada contra o regime. Aos 24 anos, Nelsinho sentia-se incomodado por “ser tão convicto e não estar dentro da luta”. Disse isso a Nelson, que apenas aconselhou-o a ficar longe “daquela loucura
“Guerrilha urbana não é batalha de confete”, brincou Nelson.
Nelsinho não era o único a estar voltando para a casa de sua mãe, que agora morava na Tijuca. Joffre também estava de volta, depois de dois anos nos Estados Unidos: pegara dinheiro com José Luís Magalhães Lins e abrira um restaurante ali perto, na rua Uruguai, chamado “Cartum”. Em pouco tempo Joffre observou uma movimentação diferente no apartamento — eram muitos os amigos “estranhos” de Nelsinho que entravam e saíam. Um deles, velho amigo de Nelsinho, parecia estar ficando de vez. Joffre precipitadamente farejou a formação de um “aparelho” e se queixou com Nelsinho. Tiveram uma discussão, Joffre queria que ele mandasse todo mundo embora. Nelsinho respondeu que não faria isso. Joffre ameaçou:
“Se não sumirem, denuncio todo mundo.”
Nelsinho olhou-o nos olhos:
“Se fizer isso, dou-lhe um tiro na boca.”
Mas não houve denúncia, nem tiro. Nelsinho saiu de casa e alugou um apartamento no subúrbio de Lins de Vasconcelos. Sua mãe comprou-lhe um sofá e uma geladeira para o apartamento. Mas o aluguel já seria pago com o dinheiro da organização a que Nelsinho agora pertencia: o MR-8.
O apartamento no Lins era um “aparelho” e, para todos os efeitos, Nelsinho agora se chamava “Prancha” — seu codinome. Ia atuar no setor de apoio ao “grupo de fogo” como motorista. Era um bamba no volante e isso iria salvar-lhe a vida algumas vezes — quando, levando um “Taurus” 38 no cinto, teria de dirigir abrindo caminho em tiroteios.
Nos dois anos em que esteve clandestino, de fevereiro de 1970 a março de 1972, quando foi preso, “Prancha” esteve quatro vezes com seu pai. Seus encontros com Nelson exigiam toda uma complicada operação, envolvendo companheiros que apanhavam o velho em sua casa no Cosme Velho, duas ou três trocas de carros com placas legais e ilegais, cortar caminho por lugares como o morro dos Cabritos e disparar pela avenida Brasil temendo uma perseguição. O “aparelho” do Lins já caíra em abril daquele mesmo ano de 1970 e “Prancha” estava agora quase inacessível — era um elo na malha da guerrilha. Para falar com ele, só quando o próprio “Prancha” telefonasse da rua.
Na primeira vez em que o cardíaco e assustado Nelson submeteu-se a essa aventura para ver o filho, comentou com ele:
“Emocionante. Me sinto num filme.”
Nesse primeiro encontro, Nelson ouviu mais do que falou, como era sua característica. Durante um almoço num restaurante na Zona Norte, “Prancha” explicou-lhe as motivações da luta armada e Nelson, triste, quis saber:
“Qual é o seu grau de envolvimento?”
“Prancha” não podia dizer-lhe que era total, apenas porque ainda não participara de uma ação. Mas falou-lhe que estava disposto a enfrentar os riscos da luta, as torturas, talvez a morte. Nelson recusava-se a acreditar que o Exército torturasse. Os maus-tratos que alguns poderiam estar sofrendo eram de responsabilidade de civis ou de policiais envolvidos no combate à guerrilha. Os dois conversaram no clima de respeito que sempre fora uma constante entre eles, trocando argumentos e convicções. Quando se despediram com beijos, sabiam que nenhum dos dois alterara em um milímetro o pensamento do outro.
Nelson mandou dinheiro para “Prancha” durante a clandestinidade. Geralmente a entrega era feita através de Leigmar, uma velha amiga da família, que vira Nelsinho crescer e agora trabalhava como doceira no restaurante de Joffre. Mas um dos primeiros correios foi feito por Heleninha, indo ao seu encontro no cinema “Olinda”, na Tijuca. “Prancha” evitava procurar Nelson para não envolvê-lo, mas chegou a telefonar-lhe da rua para a casa de dona Maria Esther, onde sabia que o acharia. Jamais poderia imaginar que, um dia, por acaso, Nelson é que iria encontrá-lo.
“Prancha” tinha um “ponto” (encontro) com César Queirós Benjamim, “Cesinha”, o ex-secundarista que se tornara um dos elementos-chaves do MR-8 — e que, por isso, era procurado por todo o Exército. O “ponto” seria na esquina de rua da Passagem com rua São Manuel, em Botafogo. “Prancha” e “Cesinha” estavam cada qual de um lado da rua, à espera de que o sinal abrisse. “Prancha” ia atravessar quando ouviu uma voz familiar:
“Nelsinho!”
Era Nelson. Estava ali casualmente, saindo de uma casa comercial. Houve um segundo de emoção e constrangimento mútuos. “Prancha” recuperou-se do susto, disse a seu pai que estava tudo bem, não deviam ser vistos juntos, que se mandasse dali. A custo conseguiu enfiá-lo num táxi. Procurou “Cesinha” na rua e não o viu mais. Mas “Cesinha” reapareceu em minutos e bem atrás dele:
“Está maluco, rapaz? Trazendo seu pai pro ‘ponto’?”
Não havia como não achar graça da coincidência, mas sabiam que houvera risco. Nelson podia estar sendo vigiado.
Durante algum tempo, “Cesinha” foi dos poucos do MR-8 a saber a verdadeira identidade de “Prancha”. Não era raro que algum colega de “aparelho”, assistindo com ele à “Resenha Facit” pela televisão, comentasse:
“Esse cara é inteligente”, referindo-se a Nelson. “Pena que seja um reacionário.”
“Prancha” tinha de segurar-se para não rir.
Quando “Prancha” tornou-se um nome na luta armada, muitos de seus companheiros do MR-8 ficaram estatelados ao descobrir quem ele era. Imagine então a reação do Exército quando soube de sua identidade. Os dois lados enxergavam a monstruosa ironia daquela situação: um dos maiores anticomunistas do Brasil ter um filho envolvido na luta armada contra o regime que ele tanto defendia.
E Nelson era um dos poucos a declarar sua amizade pelo militar que iria representar a pior fase do endurecimento do regime: o presidente Médici. Desde a posse deste, os dois se namoravam à distância no Maracanã (Médici na tribuna de honra; Nelson na de imprensa). Médici gostava de futebol, era Grêmio em Porto Alegre e Flamengo no Rio, vivia pelas tribunas com um radinho de pilha. Pode parecer pueril — e é —, mas foi o que o tornou simpático a Nelson. Os outros dois presidentes militares, Castello Branco e Costa e Silva, seriam capazes de entrar num estádio e perguntar: “Quem é a bola?”. E Médici tinha “perfil de efígie, selo, moeda”, aparentava personalidade, firmeza. Nelson fantasiara nele o mesmo traço que o fizera gostar de Wladimir: o potencial de liderança.
Em janeiro de 1970, Médici tomara a iniciativa da aproximação, convidando-o a assistirem juntos ao jogo São Paulo x Porto, de Portugal, pelo 10º aniversário do estádio do Morumbi, em São Paulo. Iriam e voltariam no avião presidencial. Nelson hesitou: em seus 58 anos incompletos, nunca entrara num avião, por medo. Cansara-se de recusar toda espécie de viagens — deixara de assistir a Copas do Mundo por causa disso. E desta vez não seria diferente: aceitava o convite de Médici para ver o jogo, não o avião. Iria de carro para São Paulo com Nelsinho.
Nelsinho ainda não caíra na clandestinidade. Ainda não se tomara o “Prancha”, ninguém era capaz de saber que, em menos de trinta dias, seria um clandestino. (Nem ele. Seus contatos com o MR-8 ainda não estavam fechados.) Levou Nelson com prazer a São Paulo, mas recusou delicadamente o seu convite para assistir ao jogo com Médici.
“Obrigado, velho, mas não tenho o menor prazer na presença desse senhor”, disse a Nelson.
Deixou Nelson no hotel em São Paulo. Viu quando os homens do governo vieram buscar seu pai para almoçar com Médici antes do jogo e pegou de novo a estrada para o Rio. Nelson voltaria de táxi ou de carona com alguém.
Nelson assistiu ao jogo e, quando se deu conta, estava a bordo do avião de Médici, voltando para o Rio a trinta mil pés de altura. Os homens de Médici souberam que era o seu primeiro vôo e quiseram “batizá-lo” com champanhe. Nelson tomou apenas “Lindoya”, a água mineral que mais lhe parecia água da bica. Durante o jogo, entre outras “Lindoyas”, ele perguntara a Médici:
“Presidente, o senhor me garante que, ao contrário do que dizem, não há tortura no Brasil?”
Médici respondeu:
“Dou-lhe a minha palavra de honra que não se tortura.”
Nelson ficou satisfeito. Presenciou a aterrissagem da cabine do comandante. O avião parecia planar sobre o oceano. E, de repente, o chão surgiu à sua frente, como se quisesse fugir sob seus pés.
-1972 - LIGAÇÕES PERIGOSAS
O Exército não queria nem pensar na eventualidade de “Prancha” ser morto num tiroteio. Ou de que “caísse" numa ação e fosse torturado
com marcas sem que soubessem que era ele. Uma ordem havia circulado: “Prancha” não pode morrer. Assinado: Orlando Geisel, ministro do Exército. A repercussão seria a pior possível se algo irreparável acontecesse ao filho de Nelson Rodrigues.
Mas, ao mesmo tempo, ele ficara um peixe grande demais dentro do MR-8 para continuar solto. Era agora um homem de planejamento, cobertura e execução de ações armadas. Em dezembro de 1971 já era um dos “21 mais procurados” pelos órgãos de segurança. Sua foto e seu nome estavam nos cartazes afixados em aeroportos e estações rodoviárias e nas matérias que saíam nos jornais. (Menos em “O Globo”: Roberto Marinho mandou que tirassem a foto de Nelsinho, dessem só o nome.) Seu currículo em 1972 incluía assaltos a dois supermercados, duas agências de banco, duas firmas distribuidoras, um depósito de bebidas e um carro-forte. No assalto ao carro-forte morrera um militar da reserva e três agentes ficaram feridos, nenhum por ele. Tinham de apanhá-lo — mas vivo.
E então aconteceu: no dia 30 de março daquele ano, 1972, “Prancha” foi preso no Méier, a poucos metros de um “ponto” que envolveria gente de várias organizações. Começara a atravessar a rua quando um “Corcel” branco, quatro portas, rolou devagarinho na sua direção. Ou passava ele, ou passava o carro. ‘Prancha” parou. De brincadeira, fez uma mesura inatual, curvando-se para o “Corcel” e dando-lhe passagem, como se fosse uma carruagem real. Um homem nada inatual saltou de dentro do carro com uma metralhadora apontada para o seu peito:
“Não se mexa!”
Não se pode dizer que “Prancha” não estivesse preparado para aquele momento. Dezenas de seus companheiros haviam passado por isso nos últimos dois anos. A luta armada já estava praticamente destroçada pelo regime. Num micronésimo de segundo, “Prancha” viu a pergunta passar diante dos seus olhos: “Reajo ou não reajo?”. O “Taurus” estava na sua cintura. Antes que pingasse mentalmente o ponto de interrogação, três outros homens saltaram, cada qual por uma porta, todos armados. No bolso de “Prancha” havia um papel com o planejamento completo do assalto a ser executado a partir daquele “ponto”: a descrição do local, os movimentos cronometrados, tudo o que cada um deveria fazer.
Depois ele saberia que sua “queda” era inevitável. Todos os “pontos” a serem cobertos aquele dia por um militante da VAR-Palmares preso e torturado na véspera, inclusive o dele, estavam “caindo” ou iriam “cair”. A própria esquina onde “Prancha” encontraria seus companheiros estava tomada. Ele mesmo vira um sujeito trepado num poste com uniforme da Telerj e um gari — saberia depois que eram agentes da repressão. A equipe que o capturara tomara-o por um militante de outra organização, chamado “Tino”. Um peixe grande —não do seu tamanho, mas eles nem desconfiavam disso. Jogaram-no dentro do carro e, durante todo o trajeto para o CODI (Centro de Operações de Defesa Interna), na rua Barão de Mesquita, mimosearam-no com coronhadas nos rins.
Dois anos antes, em abril de 1970, quando Nelsinho já estava na clandestinidade, mas ainda se supunha que seu envolvimento fosse mínimo, Nelson conversara com Médici no Maracanã durante um Brasil x Áustria.
“Presidente, o senhor deixaria meu filho sair do Brasil?”, perguntou Nelson. Médici prometeu que sim. No dia seguinte o próprio Médici ligou para Nelson: “Falei com o general Orlando Geisel. Seu filho se entregará a você. Você o encaminhará a uma autoridade competente, que lhe dará um passaporte e uma passagem para onde ele quiser ir”.
Nelson perguntou a Joffre o que achava. Joffre disse que só Nelsinho poderia decidir — quando e se aceitasse um encontro para ouvir a proposta. Os dois não se falavam desde a briga do tiro na boca, em casa de sua mãe. Duas semanas depois, Nelsinho ligou para Elza e esta o mandou ligar para Joffre, disse que era importante. Nelsinho telefonou para seu irmão no “Cartum” e marcaram um encontro para aquela noite numa esquina da rua Uruguai.
Joffre passou três vezes pela esquina com seu “Dodge Charger” e Nelsinho não estava lá. Na quarta vez avistou-o, quase confundido com a sombra de um poste. Nelsinho entrou no carro e disse a Joffre para pegar a Radial Oeste e rodar. Ouviu de Joffre a proposta de Médici e respondeu:
“Acho que não vai dar. Não tenho quem me substitua no grupo neste momento. E não acho justo deixar os companheiros na mão. Além disso, é um privilégio que eu dispenso.”
Joffre usou os argumentos de irmão e outros que tomou emprestado de seu pai, mas Nelsinho não mudou de idéia. Pediu para descer num lugar que Joffre nunca soube precisar, talvez Vicente de Carvalho — tinham rodado tanto que perdera o senso de orientação. Quando voltou para o restaurante, Joffre suspeitou que haviam sido seguidos o tempo todo por um carro dos órgãos de segurança — o qual estava sendo seguido por um carro da organização de Nelsinho. Telefonou a Nelson e comunicou-lhe a recusa.
Nelson ouviu aquilo e teria dito a um amigo:
“Meu filho me deu uma lição de moral. Arrumei-lhe uma coisa formidável e ele recusou.”
Mas não desistiu. Encontrou-se com Nelsinho, numa churrascaria da Barra da Tijuca, depois de mais uma daquelas operações complicadas, e perguntou se ele aceitaria conversar com Hélio Pellegrino sobre isso. “Prancha” disse que sim. E então a operação se repetiu, só que agora o carro apanhou Hélio no Jardim Botânico e começaram a dar voltas em torno da lagoa.
“Olha, o Nelson teve uma idéia”, disse Hélio. “Por que você não vai para Cuba fazer um curso de adestramento?”
Hélio não sabia o que mais o espantava: se a proposta de Nelson — ou a nova recusa de Nelsinho.
Nelson escreveu a Médici comunicando a situação. A carta foi datilografada por Otto Lara Resende e entregue por Magalhães Pinto. (Francisco Pedro do Coutto contaria mais tarde que, na vez seguinte em que Nelson e Médici se viram no Maracanã, cada qual em sua tribuna, depois da Copa do México, um indignado Médici teria virado o rosto a Nelson.) Não havia mais nada a fazer — exceto alertar os porões da repressão de que aquele rapaz alto, de barba e “tórax de sapateiro” (com as costelas afundadas no centro, formando uma concavidade vertical), era “Prancha” — Nelson Rodrigues Filho. Aquele que não podia morrer.
O Brasil tinha sido tricampeão do mundo no México. E, como acontecera na Copa da Suécia em 1958, agora era fácil falar que um time com Pelé, Tostão, Gérson, Rivelino, Carlos Alberto, Jairzinho e Clodoaldo era invencível. Ninguém mais se lembrava da campanha assassina, primeiro contra João Saldanha, depois contra Zagalo, que fizera daquele escrete o mais desacreditado de todos os tempos. A tal ponto que, quando os jogadores embarcaram para Guadalajara, Nelson escreveu em “O Globo”:
“Partiu a seleção. Terminou o seu exílio.”
Para ele, o escrete brasileiro era sempre invencível. Quem eventualmente o derrotava, como na Copa de 1966, era a comissão técnica, os dirigentes ou o próprio derrotismo dos jogadores — nunca o adversário. Cansou-se (ou, por outra, não se cansou) de dizer que, no México, o Brasil ganharia andando. Quando isso se confirmou no jogo final contra a Itália, no dia 21 de junho, os “profetas da derrota” tiveram de dar a palma à sua fé inquebrantável — e, na verdade, cega.
Quatro meses depois, no dia 31 de outubro, um domingo, Nelson estava no Maracanã assistindo a Flamengo x Santa Cruz pelo campeonato nacional. Aos quinze minutos do segundo tempo, sentiu-se mal. Pediu a Marcello Soares de Moura, que estava com ele, que o levasse ao serviço médico do estádio. O enfermeiro não soube dizer o que era, só sabia que era grave, mandou-o ir embora imediatamente. Francisco Pedro do Coutto levou Nelson para casa, no Cosme Velho. Doutor Stans Murad, médico de Nelson, foi chamado por Heleninha. Encontrou-o pálido, suando e, finalmente, Nelson vomitou sangue.
Era a úlcera — não uma, mas duas, ambas perfuradas. Enquanto Coutto o trazia pelos túneis para a Zona Sul, Nelson estava tendo uma hemorragia interna. A “víbora”, como ele chamava a úlcera (a quem “tratava a pires de leite, como a uma gata amestrada”), estava se vingando dos três ou quatro analgésicos que Nelson lhe servira por dia durante anos, e que a irritavam como se ele a alimentasse com vidro moído.
Nelson foi removido para a casa de saúde São José, mas não podia ser operado imediatamente — havia complicações no esôfago, pâncreas, pulmões e coração. O cirurgião, doutor Augusto Paulino, só o operou dois dias depois, na terça-feira. Mas Nelson insanamente fumou na quarta e sofreu uma broncopneumonia, uma parada respiratória e, três horas depois, um enfarte. Passou 24 horas respirando por um tubo endotraquial. Quando o aparelho era retirado, tinha delírios provocados pela baixa oxigenação — dizia coisas geniais e outras sem sentido. E, durante esses delírios, Nelson, inconsciente, simulava estar escrevendo à máquina.
De novo em casa, dias depois, Nelson passaria a conviver com novas rotinas. Uma delas, a proibição de fumar. Só a respeitou no começo e, mesmo assim, trapaceando: fumava no banheiro. Seu cigarro, “Caporal amarelinho”, estava ficando difícil de encontrar — um dos poucos lugares que ainda o vendiam era uma tabacaria na avenida Rio Branco, perto do “Jornal do Brasil”. E só então se soube que o “Caporal amarelinho” deixara de ser fabricado. Nelson então mudou para “Continental” sem filtro. Murad checava seus dedos para ver se estavam amarelos de nicotina. Mas não podia fazer nada com um cliente que escrevia na sua própria coluna: “Que o meu cardiologista, doutor Murad, não saiba que fumo escondido”.
À outra rotina em sua vida, Nelson não pôde escapar: enfermagem em casa, 24 horas por dia. Suas primeiras enfermeiras foram Leonor, no turno do dia, e Lola, no da noite, ambas bolivianas. Nos dois últimos meses de 1970, talvez os mais longos e solitários de sua vida, Nelson alternava fases de insônia com outras de abismal apatia. E, como não conseguisse dormir à noite, desabava durante o dia, em cima da máquina de escrever ou do próprio jantar. Ainda estava “casado” com Heleninha, mas seus poucos momentos de comunhão aconteciam tarde da noite, quando ela o levava para ser ninado no carro, dirigindo a vinte quilômetros por hora, do Cosme Velho à Barra da Tijuca, ida e volta. Só então Nelson conseguia dormir um pouco. As vezes, o motorista era o irmão de Heleninha, Anel.
Como se não bastasse, começara a receber cartas e telefonemas anônimos ameaçando-o. Algumas das ameaças vinham no jargão das esquerdas — e, pelo anticomunismo diário de Nelson nas “Confissões”, não era impossível que passasse pela cabeça de algum grupo terrorista a idéia de esfolá-lo. Mas tão ou mais provável era que viessem de certos órgãos da repressão, para irritá-lo e fazê-lo entregar “Prancha”. Ninguém entre os militares acreditava que Nelson não soubesse onde estava seu filho. E a verdade era que não sabia. José Luís Magalhães Lins achava que Nelson não devia arriscar-se: destacou dois seguranças de seu banco para guardá-lo dia e noite enquanto durassem as ameaças. E assim o casarão do Cosme Velho passou a ter mais dois moradores, um a cada turno.
No “réveillon” de 1970 para 1971, nenhum dos amigos de Nelson foi visitá-lo. A família de Heleninha compareceu. Ficaram com Nelson no primeiro andar, mas, bem antes de meia-noite, ele começou a cabecear e adormeceu. O cigarro era tão presente em sua vida que, mesmo sob um sono de chumbo (induzido por “Mutabon”, um tranqüilizante), Nelson sonhava que fumava. Levava o cigarro imaginário entre dois dedos até a boca e soprava uma fumaça também invisível. Naquela noite de “réveillon”, ao vê-lo dormindo, Heleninha resolveu ir a Copacabana com suas primas para jogar flores para Iemanjá. Cerca de uma e meia da manhã, Nelson acordou. Não viu ninguém e chamou a enfermeira Lola. Pediu um copo d’água. Perguntou as horas. Onde estavam todos? Quando soube que haviam saído, balbuciou alguma coisa referente a solidão e chorou convulsivamente. Lola chorou com ele.
Doze dias depois, Nelson jantava no late Clube com Heleninha quando novamente sentiu-se mal — falta de ar e dormência dolorida no braço esquerdo. Voltou para casa. Murad atendeu-o e internou-o no Instituto Brasileiro de Cardiologia, no Humaitá. Nelson estava com insuficiência coronariana aguda e tinha de ficar no cm Seu filho Joffre foi vê-lo. Conversaram qualquer coisa. Joffre pegou o carro e foi dizer a Heleninha no Cosme Velho:
“São onze da manhã. Você tem até duas da tarde para pegar suas coisas e deixar esta casa. Papai está de acordo. E não adianta esperar por ele. Não vai sair tão cedo do CTI”
Ela obedeceu. Na verdade, já esperava por isso. Sentia que Joffre, as irmãs de Nelson e até os amigos dele a achavam uma intrusa. A enfermeira Lola fora uma que a avisara: “Abre o olho”. Dizia isso porque Nelson costumava chamá-la, na ausência de Heleninha, para perguntar se sua mulher não recebia visitas masculinas no andar de cima, enquanto ele dormia.
“Mas o senhor não dorme, doutor Nelson”, dizia Lola. “Sabe muito bem que ninguém vem aqui.”
Os “irmãos íntimos” de Nelson sussurravam maliciosamente que Heleninha devia ser a responsável pelos seus enfartes, por obrigá-lo a uma vida sexual de atleta olímpico. Poucos sabiam que aquela relação estava muito mais para a do idoso e platônico Karl Malden com a quase adolescente Carroll Baker no filme de Elia Kazan, “Baby doll” (“Boneca de carne”) — e não porque Nelson quisesse assim. Com todo aquele bombardeio contra o seu organismo, é bem provável que, depois de 1970, ele só raramente conseguisse uma ereção. Os melhores momentos que passaram juntos foram um fim de semana em Brocoió, RJ, a convite do governador Chagas Freitas, antes das úlceras perfuradas no Maracanã. Mas a paixão, se havia naquela casa, era coisa dos discos de ópera e de Yma Sumac que Nelson punha para tocar.
Heleninha saiu por uma porta e, tempos depois, Nelson também. A casa do Cosme Velho foi devolvida ao proprietário e, em meados de 1971, Nelson mudou-se para um pequeno apartamento na rua Xavier da Silveira, quase com Barata Ribeiro, em Copacabana. Levou com ele sua enfermeira Leonor, cujo desvelo por Nelson às vezes parecia exceder as simples obrigações profissionais. Havia da parte de Leonor alguma coisa que nem as irmãs de Nelson conseguiam definir. O que fosse — desvelo, ternura —, seria o ideal, elas achavam. Nelson precisava de alguém que fosse mais que uma enfermeira profissional. Leonor tomou-se uma espécie de governanta, com poderes para resolver tudo por Nelson e, durante algum tempo, com acesso até à sua conta bancária.
Enquanto o drama de Nelsinho se desenrolava longe de seus olhos — em “aparelhos” na Zona Norte que poderiam ser estourados a qualquer momento, em ações armadas onde a morte era uma constante possibilidade —, Nelson reuniu forças para exercer uma espécie de militância política de que nem todos os seus amigos tinham conhecimento. E que os leitores das “Confissões” nunca poderiam imaginar.
Seu prestígio e contatos com os militares tornaram Nelson um amigo a ser procurado por pessoas em apuros junto ao regime. De 1969 a 1973, ele foi instrumental na localização, libertação ou fuga de diversos suspeitos de crimes políticos. Em fevereiro de 1970, por exemplo — quando Nelsinho tinha apenas saído de casa e ninguém sabia ainda quais eram os seus planos —, Nelson foi chamado a ajudar o jovem diplomata Miguel D’Arcy de Oliveira, preso por fazer parte da “conspiração que denegria a imagem do Brasil no exterior”.
D’Arcy servia em Genebra, na Suíça. Recebera pela mala diplomática um dossiê sobre torturas a presos políticos brasileiros que passou para a Cruz Vermelha e para a Anistia Internacional. No sábado de carnaval foi chamado ao Brasil por “razões de serviço”. Suspeitou que se tratasse de uma cilada. Mas podia também não ser. O jeito era vir. Chegou ao Rio na quarta-feira de Cinzas, procurou seu amigo Joffre Rodrigues, filho de Nelson, e alertou-o para a possibilidade de precisar de ajuda. No dia seguinte, D’Arcy apresentou-se ao Itamaraty e foi preso lá dentro, nas barbas dos cisnes. Eram os tempos do “pragmatismo responsável” na diplomacia brasileira. O ministro do exterior era Mário Gibson Barbosa.
Quando certificou-se da prisão de seu amigo, Joffre falou com Nelson. E então cabe a pergunta: por que Nelson, como seu “patriotismo de granadeiro bigodudo’ ajudaria alguém acusado de “denegrir o Brasil” no exterior? E ainda mais que esse negrume referia-se às torturas — torturas que, em 1970, ele ainda não acreditava que acontecessem. (Médici dera-lhe sua palavra no Morumbi.) Nelson não perguntou nada a Joffre, exceto o nome completo e algumas qualidades de Miguel D’Arcy de Oliveira. Com esses dados, foi ao general Sizeno Sarmento, comandante do 1º Exército. Este garantiu-lhe que trataria pessoalmente do caso.
D’Arcy ficou 45 dias preso, mas não foi torturado. Ao fim desse tempo libertaram-no para aguardar o processo. Mas D’Arcy fugiu do Brasil, a pé, pela fronteira. Conseguiu chegar ao Chile e, de lá, voltou para Genebra. Excluído da carreira diplomática, podia agora trabalhar abertamente para a Cruz Vermelha e a Anistia Internacional.
O pretexto para a prisão do teatrólogo Augusto Boal, em fins de fevereiro de 1971, foi parecido. Os militares o acusavam de ter levado à revista francesa “Le temps moderne”, dirigida por Jean-Paul Sartre, outro dossiê sobre torturas. Nelson ainda se recuperava de sua internação por insuficiência coronariana quando recebeu um telefonema da família de Boal comunicando-lhe sua prisão em São Paulo. A atuação de Nelson, desta vez, não se limitou a falar com este ou aquele general. Escreveu uma “Confissão” inteira (“O artista Augusto Boal”, em “O Globo” de 18/3/1971) que era quase um ultimato. Os trechos mais importantes diziam:
Há coisa de três ou quatro dias soube que [Boal] estava preso em São Paulo. Nada se compara ao meu espanto e nada o descreve. Preso por que, a troco de quê? Se me perguntarem o que faz Augusto Boal, darei esta resposta: — “Faz teatro”. Poderão insistir: — “Mas além de teatro?”. E eu: — “Só teatro”. Vamos admitir que o leitor continue: — “E o que pensa Augusto Boal?”. Minha resposta: — “Pensa em teatro”.
Cabe a pergunta: — se é tão inocente, como o prendem? Vejamos. Eu sou, como se sabe, de uma insuspeição total. Venho com a revolução desde o primeiro momento e antes do primeiro momento. Sim, muito antes do primeiro momento eu já achava que só as Forças Armadas podiam salvar o Brasil. E de fato elas o salvaram. Portanto, é como revolucionário que estou dando meu testemunho sobre um homem preso como subversivo. Repito: — o que faz o meu amigo? Sua vida é uma apaixonada meditação sobre o mistério teatral. Se é crime fazer teatro, então que o prendam. Se é crime estudar teatro — prendam-no. Porque ele não faz, nem fará jamais, outra coisa.
A crônica de Nelson era, como sempre, de um generoso exagero. Dizia ser amigo de Boal há trinta anos. Inventou um Boal de calças curtas que ia toda noite ao Teatro Phoenix em 1946 para ver “Vestido de noiva” e, à saída da peça, ficava na porta esperando para beber suas palavras. Inventou uma situação em que, no velório de um amigo, os dois se retiraram para um canto para conversar sobre teatro. Na verdade não fora bem assim, embora a história real mostrasse uma intimidade até maior.
Nelson conhecera Boal em 1950, quando este ainda era aluno da Escola de Química, na praia Vermelha. Boal convidara-o a dar uma palestra na escola sobre teatro. Nelson gostara dele, passara a mostrar-lhe suas peças (“Dorotéia”, “Valsa nº 6”), ainda no manuscrito, e se interessara em ler suas primeiras tentativas. (As primeiras peças de Boal eram uma cavalgada de incestos.) Apresentara-o a Sábato Magaldi, critico do “Diário Carioca”, e a Carlos de Laet, da “Última Hora”. Boal fora estudar teatro nos Estados Unidos em 1953. Voltara em 1955 e Nelson arranjara-lhe um emprego como tradutor na revista “X-9”. Depois incluíra-o na sua natimorta “Companhia Suicida do Teatro Brasileiro”. E então Boal mudara-se para São Paulo, ficara famoso e, sempre que vinha ao Rio, procurava-o.
Nelson estava mais do que ciente do muro ideológico que os separava, mas de que lhe importava? Boal podia ser de esquerda, mas era um artista, não um guerrilheiro — e era seu amigo. Por isso nem titubeou quando um militar foi dizer-lhe no novo restaurante de Joffre, “O bigode do meu tio”, em Vila Isabel:
“Doutor Nelson, parece que o senhor se enganou quanto ao seu amigo Augusto Boal. Ele não é tão inocente quanto o senhor pensa...”
“Não estou enganado, coronel”, rebateu Nelson. “Não retiro uma palavra e, se preciso, me responsabilizo por ele e assino na linha pontilhada.”
Boal ficou preso até junho e foi torturado. Quando o libertaram, foi embora para Paris e ficou anos por lá.
Mas nem todos os amigos de Nelson continuaram seus amigos. Um deles foi o filólogo Antônio Houaiss. Nelson, Houaiss e Francisco Pedro do Coutto almoçavam com freqüência no “Yankee Brasil”, um tradicional restaurante da rua Rodrigo Silva. Num desses almoços, em que se discutia o “determinismo histórico”, Houaiss perdeu a paciência com Nelson:
“Pare com essa mania de me chamar de marxista!”
Nelson recolheu-se atrás do prato de abóbora com carne de sol e, a partir daí, Houaiss passou a evitá-lo. Um novo almoço entre os três ainda chegou a ser marcado, semanas depois, no “Rio Minho”. A tempo e hora Nelson e Coutto estavam no restaurante da praça Quinze. Houaiss não apareceu. Os dois resolveram sair dali e ir comer no “Columbia”, na rua da Alfândega — onde, por um desses perversos acasos, encontraram Houaiss almoçando com Otto Maria Carpeaux e Barbosa Lima Sobrinho. Uma amizade se encerrava.
Nenhuma dessas quebras de estima o magoou mais que a de Antônio Cal-lado. Os dois tiveram uma discussão na casa do amigo de ambos, o advogado Miguel Lins, no Leblon — que Nelson classificava como uma “casa de romance policial inglês, com cadáver debaixo do tapete”. O assunto era o seqüestro do embaixador alemão Ehrenfried von Holleben, em junho de 1970. Von Holleben ainda estava em poder dos terroristas, e a dúvida era sobre se estes matariam o diplomata se suas exigências (libertação de quarenta presos políticos) não fossem atendidas. Callado via a coisa em termos políticos: numa guerra (e aquela era uma guerra), o refém teria de morrer, para que os terroristas não se desmoralizassem. Nelson ficou pasmo: nada justificava a morte de um inocente.
A discussão foi aos gritos e Nelson escreveu uma “Confissão” contando a sua decepção com o amigo. O nome de Callado não era citado e nem mesmo as expressões que facilmente o identificariam, a do “doce radical” e a do “único inglês da vida real”.
Ao ler a “Confissão”, quem ficou pasmo foi Callado. Aquela fora uma discussão entre amigos, não era para sair no jornal. Declarou-se rompido com Nelson, para desespero de Hélio Pellegrino, que presenciara a briga e não admitia que os dois ficassem inimigos. Callado exigia uma retratação por escrito — mandou dizer isso a Nelson através de Salim Simão e Hélio. Mas Nelson não a escreveu.
Os dois se reconciliariam no futuro, mas o que diria Nelson se soubesse que muitos dos militares que ele apoiava pensavam exatamente como Callado? O coronel Adir Fiúza de Castro, por exemplo, era da opinião de que, no caso de um seqüestro, “o refém está morto” — ou seja, aconteça o que acontecer, o governo não tem que ceder nem negociar. Tem de ir lá e estourar o esconderijo, com refém e tudo. Naquele seqüestro, felizmente, os radicais de ambos os lados recolheram as matracas: o governo cedeu e os terroristas devolveram o embaixador.
A briga entre Nelson e Callado faria com que até hoje alguns ainda acreditem que, quando Callado foi preso e Nelson teria tentado ajudá-lo, Callado recusara a ajuda por “não desejar que isso constasse de sua biografia”. Pois nada disso aconteceu. Primeiro, porque o próprio Callado o desmente: “Eu nunca diria tal coisa”. Segundo, porque quando Callado foi preso, em janeiro de 1969, e passou um mês na Vila Militar (na mesma cela de Gilberto Gil) e na Polícia Militar, em São Cristóvão, ele e Nelson ainda se davam com o carinho de sempre. E, naquela ocasião, Nelson não precisou ajudá-lo, porque Callado já estava sob a proteção de outro escritor de bem com os militares: o romancista baiano Adonias Filho.
Outros amigos de Nelson, como os irmãos Armando, Mário e Felipe Daudt de Oliveira, o colunista político Vilas Boas Corrêa, o ex-ministro getulista Hélio de Almeida, o cineasta Gilberto Santeiro e todo o seu estoque de “irmãos íntimos”, não alteraram em um milímetro a sua relação com ele. A partir de 1971, passaram a ter até um outro ponto de encontro: o novo restaurante de Joffre, “O bigode do meu tio”, na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel. Este era mais que um restaurante. Com dinheiro emprestado a José Luís e a Bellini Cunha, Joffre transformou-o na segunda casa de espetáculos do Rio, logo abaixo do “Canecão”. Mantinha setenta empregados na folha de pagamento e, numa noite cheia, podia servir dois mil “couverts”. Suas atrações musicais iam de Elizeth Cardoso e Claudete Soares a Cauby Peixoto e a paraguaia Perla. Mas os amigos de Nelson tinham de conviver ali com um outro e conspícuo grupo de “habitués”: os militares.
Não eram apenas os generais e coronéis que freqüentavam “O bigode do meu tio” — alguns dos quais penduravam contas como se o restaurante fosse a casa da sogra. Agentes do SNI, do DOPS e de outras organizações nada rotarianas infestavam o ambiente. Certamente não esperavam que “Prancha” aparecesse por ali, para cantar “Noche de ronda” em dueto com Perla, como o “Marinheiro sueco” fizera certa noite. Iam porque gostavam do lugar — embora achassem que, mais cedo ou mais tarde, algum companheiro de “Prancha” pudesse tentar entrar em contato com Nelson. Seja como for, o telefone do restaurante foi “grampeado” — embora só se descobrisse isso em 1972, quando “Prancha” foi preso e o fizeram ouvir os próprios telefonemas que dera para lá.
“Você é o ‘Prancha’!”, disse o torturador.
“Prancha” estava de capuz, não podia ver o rosto do sujeito que chutava o seu tornozelo com o batibute. Ao ser jogado na sala do CODI, passara pelo rito comum a todos os presos que caíam naquela ratoeira: o sujeito que, aos tapas e berros, ordenava: “Fala seu nome! Fala seu nome!” — e, antes que você respondesse, ele disparava uma nova ordem: “Tira a roupa! Tira tudo!”.
A nudez podia ser (e era) humilhante para muitos. Não para “Prancha”. Estudara em colégio militar, passara anos pelado em meio a outros homens, estava mais do que habituado — não seria aquilo que destruiria o seu moral. Nem teve tempo de declarar o nome que constava de sua carteira de identidade falsa, “Geraldo Barcellos Ferreira”. Foi só tirar a camisa para expor as costelas afundadas que formavam uma cavidade do pescoço ao umbigo, como o leito de um riacho. O torturador reconheceu-o naquele minuto:
“Você é o ‘Prancha’!”
O tratamento mudou num segundo. Não lhe tiraram o capuz, nem lhe ofereceram licores e charutos. Mas “Prancha” ouviu alguém sussurrar:
“Não marca.”
Durante os dois primeiros dias que passou ali, foi submetido a sessões de “afogamentos”, choques elétricos nas partes e à especial predileção de um dos torturadores, a de chutar-lhe o tornozelo com o batibute. Ao fim de uma semana foi levado para o Batalhão de Guardas, em São Cristóvão. Seu pai só o veria oito dias depois de sua prisão.
A notícia de que Nelsinho fora preso chegou primeiro a Joffre naquela mesma noite de 30 de março. Paulo Jabur, companheiro de “Prancha” no “aparelho”, ligou para o restaurante e alertou Joffre de que o “ponto” caíra. Não havia dúvida sobre a prisão. Joffre e sua mulher Marta ainda procuravam a melhor maneira de dar a notícia a Nelson e Elza quando outro telefonema — de um ex-segurança de Nelson — passou uma informação: havia um corpo no Instituto Médico Legal, de cerca de 1,93m, muito magro, barba e cabelo avermelhados que quase lhe cobriam o rosto, olhos esverdeados. Era Nelsinho escrito e escarrado. Joffre e Marta saíram correndo para o necrotério, na avenida Mem de Sá. Levaram Leigmar, doceira do “Bigode” e a pessoa entre eles que via Nelsinho com freqüência na clandestinidade.
Naquela galeria de corpos inermes e gelados, havia mesmo um que tinha tudo para ser seu irmão. Joffre podia quase jurar. Mas faltava um dado que o identificaria de forma absoluta: o tórax afundado. O homem estendido à sua frente tivera o peito destruído por uma rajada de metralhadora de baixo para cima. O identificador oficial do IML disse que só poderiam tirar a dúvida confrontando as impressões digitais do morto com as de Nelsinho. Joffre foi em casa buscar um documento de Nelsinho contendo a digital. O identificador lambuzou os dedos do morto, confrontou as impressões e garantiu: “Não são da mesma pessoa".
Joffre respirou aliviado, mas fez o homem repetir três vezes a operação de lambuzar os dedos do cadáver. Não queria ter a menor dúvida. O identificador já estava perdendo a paciência. Joffre precisou passar-lhe um dinheiro. Todas deram negativo. Joffre, Marta e Leigmar voltaram para o “Bigode”, mas só puderam jurar que não era Nelsinho depois de ligar para uma antiga namorada dele. Joffre perguntou à moça se Nelsinho tinha fimose. Ela disse que sim, mas que operara. Então Nelsinho estava vivo: o corpo no IML tinha fimose.
Pouco depois, no restaurante, alguém bateu-lhe no ombro. O sujeito anunciou-se como um inspetor do DOPS:
“Doutor Joffre, pode nos acompanhar ao IML? Há uma pessoa lá que precisa ser identificada.”
Não adiantou a Joffre explicar-lhe que estava vindo exatamente de lá. Não era um convite, mas uma intimação. Sentiu ali o cheiro de uma conjura — Nelsinho estava preso e queriam que passasse por morto, pelo menos por algumas horas. E lá se foram para o IML. O identificador oficial não queria acreditar quando viu Joffre de volta. Mas não podia protestar: agora eram ordens do DOPS. O teste deu negativo de novo e Joffre então voltou de vez para seu restaurante — e para a dura missão de contar a seus pais a prisão de Nelsinho.
Para Nelson, a noite de sábado no “Bigode do meu tio” era sempre com o doutor Stans Murad. Elza ia quase todas as noites. Joffre chamou Murad em particular e passou-lhe o relato. O cardiologista induziu Nelson a tomar um “Isordil” sublingual e deu-lhe a notícia com cuidado. Nelson reagiu mal, como se esperava, mas o “Isordil” segurou-o. Foi para o telefone e começou a ligar dali mesmo. Procurou o coronel Fiúza, o oficial que podia achar qualquer preso na área do 1º Exército. Fiúza ficou de investigar e telefonou mais tarde, garantindo que “Prancha” não estava com eles.
Foi uma longa semana de aflições. Sem notícias do filho — e com a certeza de que ele estava preso —, Nelson mobilizou todos os militares que conhecia tentando localizá-lo. “Prancha” não estava em lugar nenhum, era a resposta. Dentro da clandestinidade em que funcionava o CODI, podia até ser verdade que alguns dos militares procurados por Nelson realmente não soubessem. O irônico era que Nelson não estava podendo fazer por seu filho o que já tinha feito por outros. Como apenas dois meses antes, por exemplo, quando ajudara a localizar Angelina, filha de Oswaldo Peralva e sobrinha de Ib Teixeira, seus velhos amigos da “Última Hora”.
Angelina era militante da fração bolchevique da Polop (Política Operária), outro grupo clandestino. Fora presa em janeiro e estava desaparecida. E, como outros, podia estar morta. Peralva, sua mulher Nádia e a cunhada Lena pediram ajuda a Nelson. Nelson foi com eles ao ministério da Guerra. Falaram com Fiúza e com o general Sílvio Frota em pessoa, comandante do 1º Exército. Fiúza localizou Angelina: estava presa no Batalhão de Guardas. Brevemente seus pais a veriam. (Meses depois seria libertada para aguardar julgamento e seu advogado, Heleno Fragoso, recomendaria a Peralva que pedisse uma carta a Nelson sobre Angelina, para ser anexada à defesa — carta que ele escreveu.)
Enquanto isso, Nelson sentia-se dramaticamente impotente a respeito de Nelsinho. Ninguém dizia onde ele estava. Não quis esperar mais. Foi a Fiúza e anunciou:
“Eu vou falar com o Médici.”
Fiúza pediu-lhe mais algum tempo. Se o garoto estivesse preso ele o encontraria. E no mesmo dia encontrou-o.
“Prancha” já estava no Batalhão de Guardas. Nelson, Elza e Joffre tiveram autorização para vê-lo. Parecia bem. Mas Nelson perguntou-lhe na frente de um oficial:
“Você foi torturado?”
E Nelsinho:
“Muito.”
O rosto de Nelson se desfez, como uma máscara de teatro que tivesse sido deixada na chuva. Envelheceu anos naquele e nos minutos seguintes. Algo em que vinha acreditando durante todo aquele tempo se esboroava na palavra de seu filho — e, como se isso não bastasse, Joffre lhe contaria depois que vira o tornozelo de Nelsinho, com o branco do osso à mostra.
Nos dias seguintes, algumas patentes militares sugeriram à direção de “O Globo” que, juntamente com a notícia da prisão de Nelson Rodrigues Filho, seu pai dissesse pelo jornal que o vira e que ele estava bem.
Nelson acatou a “sugestão”. Mas declarou apenas:
“Vi meu filho. Ele está vivo.”
- 1972 – 1979 - O AGENTE DUPLO
Sete anos depois, no dia 25 de maio de 1979, o locutor Cid Moreira anunciava pelo “Jornal Nacional”:
“No momento em que o governo brasileiro prepara o projeto de anistia para enviar ao Congresso, o escritor Nelson Rodrigues fala pela primeira vez sobre seu filho — que também se chama Nelson. Ele está preso há sete anos no Rio, por crimes contra a segurança nacional.”
A repórter Teresa Cristina Rodrigues (filha de Augusto Rodrigues e prima de Nelson em segundo grau) perguntava:
“Qual é a sua relação com seu filho hoje?”
Nelson respondia:
“Muita gente pensa e deseja que meu filho esteja brigado comigo. Nunca nós nos amamos tanto como agora.”
Seguiam-se dezessete minutos de entrevista no programa de maior ibope da televisão brasileira. Algumas das surpreendentes perguntas e respostas eram:
REPÓRTER: “Existe uma contradição entre o Nelson Rodrigues pai — esmeradíssimo, sempre presente, apoiando o filho — e o Nelson Rodrigues escritor, autor, que é anticomunista, contrário às idéias do filho?”
NELSON: “Sou anticomunista. É preciso que o telespectador ouça isso. Sou democrata. Mas o sujeito não pode dizer ‘sou democrata’ sem o ridículo inevitável, porque falar em democracia hoje, em qualquer lugar do mundo, fica engraçado. Porque você pega o comunista, ele se diz democrata tranqüilamente, desafiando o teto que devia cair em cima dele.”
REPÓRTER: “Como pai, você nunca se esquece de que é um cidadão brasileiro com idéias políticas tão definidas?”
NELSON: “Eu sou a favor da liberdade, como meu filho — que também é a favor da liberdade. Nós estamos de acordo em muitas coisas. Não estamos em outras. Mas isso não modifica a nossa relação profunda. Eu talvez não sentisse tanto a condição de pai como agora, com tudo o que aconteceu e ninguém podendo fazer nada.”
REPÓRTER: “Como você explica que seu filho Nelsinho — vivendo com você, no seu mundo de idéias — tenha chegado a idéias tão opostas às suas?”
NELSON: Sou a favor da liberdade. Acho a liberdade mais importante que o pão. E ele também acredita na liberdade — só acredita na liberdade. Eu acho que ele tem incompatibilidades seriíssimas com as idéias que o fizeram entrar na luta. Imagine o amigo comunista que fala em liberdade num país como a Rússia, em que o sujeito é internado num hospício, é amarrado num pé de mesa, de quatro, com uma cuia de queijo Palmira. E os caras vêm falar de liberdade! É uma das piadas mais horrendas.”
REPÓRTER: “A educação que você deu aos filhos — Nelsinho e Joffre — teria sido repressiva?”
NELSON: “Nunca na minha vida dei um cascudo nos meus filhos. Sou rigorosamente contra a pancada na educação. E a tortura é a suprema infâmia. A infâmia jamais concebida.”
REPÓRTER: “Você acredita que o presidente Médici não sabia das torturas que estavam acontecendo naquele período?”
NELSON: “É como o diretor do jornal: a notícia escapa inteiramente à sua vigilância e ao seu controle. Numa imensa nação acontecem horrores. E uma ingenuidade atroz o sujeito pensar que o presidente sabe tudo, quando tem gente cujo trabalho é evitar que o presidente saiba de certas coisas.”
REPÓRTER: “Como você se sentiu, como pai, ao saber que seu filho tinha sido torturado?”
NELSON: “Foi um choque tremendo.”
REPÓRTER: “Você se sentiu impotente?”
NELSON: “Claro. O que é que eu podia fazer? Você queria que eu brigasse com o tanque? Saísse no braço com o tanque? Eu era o sujeito mais impotente. Eu era um beija-flor.”
Um mês depois, em junho, ao final de uma entrevista parecida, o repórter da “Última Hora” perguntou a Nelson se ele tinha alguma frase, algum apelo, algum recado para alguém.
“Sim”, disse Nelson. “O recado é para o presidente da República, que eu chamarei de você — porque ele é um homem simples, carioca como eu, mais moço do que eu, pai como eu. Escuta aqui, Figueiredo. Muitos presidentes realizaram obras maravilhosas, faraônicas. Construíram estradas, acabaram com a inflação — o diabo. Mas nenhum deles teve a chance que você tem. A bondade está acima das leis. A generosidade, a demência, a misericórdia são os mais belos sentimentos que um ser humano pode ter. Deixe o petróleo pra lá. A inflação que se dane. Um país não pode viver dividido. Você estendeu a mão. Como podem apertá-la os brasileiros que estão detidos? Solte esses rapazes, Figueiredo. Meia dúzia de obras gigantescas não colocam um presidente na História. Você é o único brasileiro que tem essa oportunidade na mão. Solte esses moços, Figueiredo. Por favor, Figueiredo, solte meu filho.”
Essa entrevista, para o jornalista Raul Giudicelli na “última Hora” (19/6/1979), ecoava a carta aberta que Nelson mandara a Figueiredo através do “Jornal do Brasil” e publicada na seção de cartas do jornal a 13/6/1979. Um trecho dizia:
Quis o destino que meu filho Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na clandestinidade. Talvez, um dia, eu escreva todo um romance sobre a clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. (Preciso chamar você, novamente, de senhor.) O senhor precisa saber que meu filho foi torturado. [...] Ora, um presidente não pode passar como um amanuense. Há uma anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que não é possível é que seja uma anistia pela metade. Uma anistia que seja quase anistia. O senhor entende, presidente, que a terça parte de uma misericórdia, a décima parte de um perdão não tem sentido. imagine o preso chegando à boca de cena para anunciar:
— “Senhores e senhoras. Comunico que fui quase anistiado”.
A campanha pela anistia começara um ano antes, em maio de 1978, no fim do governo Geisel. Os primeiros atos públicos reuniram alguns punhados de bravos na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, e na PUC, no Rio, sob um cerco de helicópteros. Mas a campanha alastrou-se rapidamente. O Brasil estava cansado, rara a família que não fora atingida pela violência. A sociedade exigia a anistia. Em outubro, o general João Batista Figueiredo fora “eleito” presidente e, pela TV, “estendera a mão em conciliação”. Tramitava um projeto de anistia do governo, que não incluía os envolvidos na luta armada, como Nelsinho. Era a “quase anistia”, a “terça parte da misericórdia”, como temia Nelson.
Nelsinho respondera a quinze processos e fora absolvido em nove, inclusive um “crime de sangue”. Nunca matara ou ferira alguém, mas, nos seis processos em que fora condenado, as penas somaram 72 anos de prisão. Ou seja: preso aos 26, teria 98 quando saísse. A irregularidade das condenações era brutal até pelas leis de exceção do próprio regime, a começar pela forma com que se arrancavam as “confissões” e os testemunhos — sob tortura ou coação. Evaristo Moraes Filho, advogado de Nelsinho, conseguira sucessivas revisões das condenações. A pena foi sendo reduzida e passou para doze anos e quatro meses. Em 1979 Nelsinho já teria cumprido mais da metade e poderia sair em liberdade condicional. Mas isso era pouco, não apagava a marca do ferrete. O que se queria era a anistia geral e irrestrita.
A voz de Nelson na campanha da anistia era duplamente incômoda para os militares. Era a voz de um pai com acesso a todo tipo de mídia — e a de um escritor que nunca escondera seu apoio ao regime. Apoio que, na verdade, sofrera um profundo abalo desde abril de 1972, quando se convencera da existência das torturas. O simples reconhecimento por Nelson Rodrigues de que o regime havia torturado denunciava o excremento que se tentara varrer para debaixo da bandeira.
“Pelo amor de Deus, vocês tirem Angelina do país”, implorou Nelson a Nádia, mulher de Oswaldo Peralva. “Os militares descobriram que ela voltou a atuar e dizem que ela está marcada.”
Era Nelson, em 1972, contando a Nádia o que ouvira no “Bigode do meu tio”, onde os militares só faltavam pendurar-se nos lustres e pular de um lustre para outro. Nádia achava que Nelson era uma espécie de agente duplo a serviço do bem. Com sua intimidade com os militares, ficava sabendo sobre quem estava visado e ia correndo alertar a família da pessoa. Angelina, que fora localizada e libertada com a ajuda de Nelson dois anos antes, em 1970, embarcou rapidamente para Paris e se safou.
Não foi a única a ser ajudada por Nelson depois da prisão de Nelsinho. Também em 1972, a artista plástica carioca Ana Letícia fora presa em Porto Alegre quando, ironicamente, participava como jurada de uma exposição do Salão do Exército. A acusação era a de ter abrigado duas militantes da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) em seu apartamento no Rio. As moças eram suas amigas. Os interrogadores não entendiam o que uma mulher que abrigava terroristas estava fazendo no Rio Grande do Sul a convite do Exército — e, como não soubessem o que perguntar, deixaram-na incomunicável por uma semana numa cela contígua a uma sala de onde vinham sons de torturas.
No Rio, família e amigos de Ana Letícia deram por seu silêncio e se mexeram para localizá-la. Um deles foi o pintor Glauco Rodrigues (sem parentesco). Glauco procurou Joffre, seu amigo e de Ana Letícia. Joffre falou com Nelson e este pediu ajuda ao coronel Agenor Homem de Carvalho, comandante da Policia Especial. Ana Letícia foi localizada. O DOPS gaúcho embarcou-a num avião para o Rio, acompanhada de um investigador. Saiu do avião diretamente para o ministério do Exército, onde foi interrogada pelo coronel Fiúza. “O que a senhora sabe de marxismo?”, perguntou Fiúza. Como Ana Letícia não parecesse muito preparada para a sabatina, Fiúza mandou-a para casa e nunca mais a incomodaram.
Outra por quem Nelson intercedeu, em maio de 1973, foi a jornalista Ana Arruda, mulher de Antônio Callado. Ana estava presa por seu envolvimento com a RAN (Resistência Armada Nacional), um dos últimos grupos da guerrilha, quando seu pai morreu. Nelson ficou sabendo e, através de Fiúza, conseguiu que ela pudesse ir ao enterro. Ana foi de sua cela para o São João Batista e voltou, e só anos depois ficou sabendo quem tornara aquilo possível.
Mas Nelson não demorou muito a perceber que seu prestígio com os militares era ilusório. A presteza e os rapapés com que o atendiam quando se tratava de localizar presos ou a garantia de que não seriam tocados não serviam muito quando se tratava do seu próprio filho. Nelsinho fora torturado no CODI. Nos dois anos e meio que passaria no Batalhão de Guardas, só teria direito a quatro banhos de sol — um a cada sete meses. Na fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, para onde seria levado em 1975 por seis meses, ficaria em solitária. O tratamento seria melhor na ilha Grande, onde passaria outra temporada e até lhe permitiriam jogar futebol. Pena que a distância da ilha Grande praticamente impedisse as visitas. Nos dois últimos presídios a partir de 1976, o “Esmeraldino Bandeira”, em Bangu, e o “Mílton Dias Moreira”, na rua Frei Caneca, as condições já eram outras — e o Brasil também. Visitar os presos políticos tornou-se quase um “programa”.
De todos os presídios pelos quais Nelsinho passou, Nelson só não foi vê-lo na ilha Grande — por estar se recuperando de uma das várias cirurgias que o flagelaram em sua última década. De 1972 a 1979, sempre que lhe era permitido, Nelson foi de presídio em presídio, enfrentando semanalmente os olhares oblíquos de outros presos políticos e suas famílias — que não entendiam o que o conhecidíssimo “reacionário” estava fazendo ali, visitando o seu filho.
“Um homem em permanente velório por si mesmo e pelos outros” — foi como Carlos Heitor Cony definiu Nelson em “Manchete”, em 1975. Mas, para Nelson, até as mortes em família já estavam ficando esperadas. Seu irmão Milton passara os últimos anos inativo no apartamento do Parque Guinle, com um tipo de câncer do sangue — linfoma, um tumor dos gânglios linfáticos. Mexia-se pouco, exceto para tentar correr atrás das enfermeiras, suas ou de sua mãe.
Mas o que o matara em 1972, aos 67 anos, fora uma trombose cerebral, como a de seu pai.
Dona Maria Esther também morrera, em 1973, aos 86 anos. Estava de há muito paralítica e só saía da cama para ir de cadeira de rodas à mesa do almoço, onde seus filhos a esperavam em perfilado respeito. Na morte de Mário Rodrigues, em 1930, ela mantivera a família unida com sua vontade de ferro. Mas agora estava se apagando como uma chama. Quando teve o edema pulmonar e foi levada para a clínica São Vicente, na Gávea, todos sabiam que não voltaria.
Cony poderia também ter definido Nelson como um homem em permanente estado de paixão — porque nem mesmo esses dramas tinham conseguido desligar o nervo amoroso de Nelson. Durante 1972 e 1973, ele vinha saindo com Malu, viúva, bonita, perfumadíssima e professora de sua sobrinha Cláudia (filha de Irene) no Colégio Anne Frank, nas Laranjeiras. Saindo não era bem o termo — porque Malu não queria ser vista em público com Nelson. Tinha medo de que seus próprios filhos soubessem e não aceitassem. Os dois se encontravam no novo apartamento de Nelson no Leme e, numa das tardes, realizaram uma simbólica cerimônia: Nelson deu-lhe uma aliança, “para além da vida e da morte”.
Foi uma grande paixão de Nelson, mas que o excesso de sigilo liquidou. Para Malu, era como se só Nelson e as irmãs dele pudessem saber de seu sentimento, mais ninguém. Por isso não compareceu ao velório nem ao enterro de dona Maria Esther. Os que viam Nelson hirto na capelinha e no cemitério, sem derramar uma lágrima — e sabiam de seu amor pela mãe —‘ não entendiam aquela firmeza. E que Nelson estava tenso e apreensivo, à espera de Malu. Quando convenceu-se de que ela não chegaria, decidiu romper o namoro.
Mas não foram anos de todo maus. Em 1973, ele iria assistir à sua grande ressurreição cinematográfica, graças ao diretor Arnaldo labor. Os últimos filmes baseados em Nelson tinham sido “O beijo”, de Flávio Tambellini (1965), e “Engraçadinha depois dos trinta”, de J. B. Tanko (1966). O primeiro fora um fiasco — ao adaptar “O beijo no asfalto”, Tambellini eliminara o asfalto do título e da história. O segundo fora competente, mas rotineiro. E, desde então, o cinema brasileiro, seguindo os conselhos de Alex Vianny, deixara Nelson de lado. Quando Arnaldo Jabor anunciou que iria filmar “Toda nudez será castigada”, era como se estivesse indo ao Egito antigo em busca de um assunto.
Até então praticamente só a “direita” filmara Nelson. Mas Jabor era insuspeito: fora redator do “Metropolitano” (o jornal da UNE), pertencia ao “Cinema Novo”, vivia com uma idéia na cabeça e uma câmara na mão. Poucos sabiam que tinha sido colega de Joffre no CPOR, era fã de Nelson desde os quinze anos e, com ou sem política, continuava sendo. Que as esquerdas não viessem policiá-lo, ou ele as mandaria lamber sabão. Elas vieram e ele as mandou lamber o dito.
“Toda nudez será castigada”, o filme, deu um susto em todo mundo. Sua estréia no “Roxy” foi um sucesso comercial e de crítica, uma rara combinação no cinema nacional. O público entusiasmou-se com Darlene Glória no papel da prostituta Geni e aplaudia o filme no meio. A adaptação de Jabor era, ao mesmo tempo, fiel e criativa. Mas nem assim passou incólume pelo Poder: enviado para representar oficialmente o Brasil no festival de Berlim, “Toda nudez” foi proibido pelo chefe da Policia Federal, general Antônio Bandeira, e retirado de cartaz em 29 cinemas do Rio. Era como prender o escrete brasileiro durante uma Copa do Mundo. Ficou um mês proibido, mas ninguém se dava conta do ridículo. Nem o presidente da República sob o qual se dera o vexame: Médici.
A retomada de Nelson pelo cinema brasileiro continuaria em 1975 com “O casamento”, pelo próprio Jabor — e principalmente com o estrondoso sucesso de “A dama do lotação”, em 1978, adaptado por Neville d’Almeida de uma história de “A vida como ela é...”, com Sônia Braga na protagonista. Estava aberto o caminho. Nos três anos seguintes, haveria outros cinco filmes baseados em sua obra. A qualidade desses filmes era discutível, mas eles seriam uma bonança financeira para Nelson.
Com sua incapacidade crônica para negociar, Nelson nem sempre fazia os melhores acordos com os produtores, mas às vezes era salvo pelo gongo. Vendeu os direitos de filmagem de “A dama do lotação”, por exemplo, por quinhentos dólares. Repetindo: quinhentos dólares. Foi Neville d’Almeida quem insistiu junto à Embrafilme para que Nelson tivesse cinco por cento da bilheteria. O que, para Nelson, foi o mesmo que fazer treze pontos na loteria esportiva porque “A dama do lotação” teve sete milhões e meio de espectadores. Neville calcula que, em cruzeiros, isso tenha representado em 1978 cerca de duzentos mil dólares para Nelson.
Sua participação nas produções consistia em visitar as filmagens, dar um ou outro palpite, estimular o elenco e promover incansavelmente o filme pelos jornais. A exceção, mais uma vez, foi “A dama do lotação”, um original de 130 linhas que Nelson ajudou a transformar em roteiro, criando novas situações e personagens. Mas, mesmo que sua participação tivesse sido nula, depois do filme pronto Nelson o considerava o “seu” filme. Quando ele era lançado, passava de carro (um “Opala” com chofer) por todos os cinemas que o estivessem exibindo, para conferir as filas. Se a sessão já tivesse começado, pedia ao bilheteiro para que o deixasse “dar um pulinho lá dentro” e checar a casa cheia.
Bem que ele avisara, há muitos anos:
‘‘O cinema nacional só terá futuro quando desaparecer o ‘Cinema Novo até o último vestígio.”
Em fevereiro de 1974, Nelson atirou-se aos pés da censora durante um ensaio de “Anti-Nelson Rodrigues”, a peça que marcava a sua volta ao teatro depois de oito anos:
“Minha senhora, eu lhe peço de joelhos. Deixe o rabo. Pelo amor de Deus, a senhora corta tudo, menos o rabo. O rabo é essencial!”
A peça fora liberada para maiores de dezoito anos, sem cortes. Agora, no ensaio, a censora estava implicando com a frase em que Oswaldinho (José Wilker) explica para Leleco (Carlos Gregório) sua fixação por Joice (Neila Tavares).
“Já reparou que o rabo da grã-fina não tem perfil?”, diz Oswaldinho. “Um rabo chato, sem perfil. A Joice, pelo contrário.”
A censora achou o termo “desagradável e pouco respeitoso para se referir à parte do corpo de uma mulher”. Não entendia que a grossura do termo era essencial para se valorizar, dois atos depois, a conversão final de Oswaldinho às virtudes espirituais de Joice. Acabou deixando passar, não porque tivesse entendido, mas por causa do gesto dramático e teatral de Nelson. Na vida real, ele sabia ser o Laurence Olivier de si mesmo.
Nelson escrevera “Anti-Nelson Rodrigues” para livrar-se da perseguição que há seis meses lhe movia a atriz Neila Tavares. Ela queria porque queria uma peça sua. E, assim como Fernanda Montenegro doze anos antes, Neila teve de persistir para arrancar-lhe essa peça. Teve também de vender um Di Cavalcanti para montá-la, mas foi bom que persistisse. Não porque “Anti-Nelson Rodrigues” estivesse à altura das peças anteriores — parecia um episódio de “A vida como ela é...”, esticado e dramatizado —, mas porque atraiu Nelson de volta ao teatro. E, no entanto, a sua ausência dos palcos durante oito anos fora de uma atroz coerência. Numa época em que, para seu desgosto, Brecht e Marx haviam “cretinizado toda uma geração de autores”, Nelson politizara radical-mente suas crônicas de jornal — mas resguardara seu teatro, emudecendo-o.
“Anti-Nelson Rodrigues” era como se nunca tivesse havido a pílula, os militares, os estudantes, os terroristas. E estava longe de ser uma peça “antiNelson Rodrigues” como ele queria. Ao contrário. Ali estava o autêntico Nelson, explícito e com notas ao pé de página. A virgindade tão fora de moda de Joice (que só se entregará a Oswaldinho depois de rasgar o cheque de milhões com o qual ele pretende comprar uma hora do seu corpo) foi justificada por Nelson na época, num texto para “Visão” (11/2/1974):
Acredito que a maior tragédia do homem ocorreu quando ele separou o amor do sexo. A partir de então, o ser humano passou a fazer muito sexo e nenhum amor. Não passamos do desejo, eis a verdade. Todo desejo, como tal, se frustra com a posse. A única coisa que dura para além da vida e da morte é o amor.
As mulheres têm normalmente embutida em si essa visão do sexo e do amor como uma peça única, indivisível. Os homens, não. Mas Nelson não era um homem comum.
Quando escreveu “Anti-Nelson Rodrigues” em fins de 1973, Nelson estava entrando na comparativa estabilidade financeira em que singraria até o fim da vida. Naquele ano, com dinheiro da Caixa Econômica Federal, comprou um apartamento de três quartos na avenida Atlântica, defronte ao mar do Leme, onde ficaria até o fim. Pela segunda e última vez na vida tornava-se proprietário — aos 61 anos. Se tivesse investido em escrever teatro dez por cento do tempo que consumiu dando entrevistas nos anos 70, teria produzido pelo menos cinco peças no período.
Não houve jornal ou revista que não fizesse o seu “pingue-pongue” com ele e não houve dia em que não atendesse a um repórter — na redação de “O Globo”, em casa ou por telefone —, para não falar das turmas de estudantes, inclusive ginasianos, que o procuravam. Passou a marcar as entrevistas em restaurantes, quase sempre na “Fiorentina”, ali mesmo no Leme. Era uma maneira de poupar tempo: terminado o almoço, bastava levantar-se, agradecer e despedir-se com um “Deus te abençoe”. (Quando iam à sua casa, os jornalistas encerravam a entrevista e continuavam batendo papo, sem que ele tivesse coragem de levá-los até à porta.)
O resultado de sua disponibilidade é uma quantidade de material impresso que só pode ser avaliada em quilos. A maioria dessas entrevistas é repetitiva, mas não por sua culpa — porque, afinal, se lhe faziam as mesmas perguntas (“O senhor é reacionário?”), ele dava as mesmas respostas (“Não, sou um libertário. Reacionária é a URSS”). Mas o que se deduz dessa estafante solicitação é que, em seus últimos anos, se Nelson continuava longe de estar entendido, podia considerar-se plenamente “aceito". A reportagem de capa de “Veja” em 11/3/1980, descrevendo sua onipresença nos palcos e telas do país, era o arremate final nessa aceitação. Como sempre desejara, Nelson era, enfim, quase tão querido quanto admirado. Seu nome foi cogitado até para a Academia Brasileira de Letras — um ambiente que ele classificava para as irmãs de “gélido como um túmulo".
O “maldito” deixara de exalar a malária, o tifo, a febre amarela. Só estava ameaçado de tornar-se aquilo que ele sempre combatera: uma unanimidade.
A tuberculose devastara a saúde de Nelson na juventude e na maturidade, e só a custo tinha sido posta em sossego. Mas legara-lhe, para a velhice, uma antologia de mazelas. A pior delas era uma fibrose que lhe dava uma área de ventilação pulmonar menor que a normal e causava uma bronquite crônica. Sua própria insônia era provocada por insuficiência respiratória. Nelson queria usar bombinha, no que era proibido pelo cardiologista Stans Murad. O que doutor Murad exigia era que emagrecesse dez quilos e deixasse de fumar — conselhos que Nelson não seguiu. A partir de 1974, seu organismo foi um campo de combate entre a medicina e a morte.
Em julho daquele ano, enquanto “Anti-Nelson Rodrigues” seguia feliz carreira no teatro do SNT, Nelson submeteu-se a uma cinecoronariografia na Beneficência Portuguesa sob a supervisão de Murad. As lesões encontradas nas artérias eram graves, mas as chapas acusaram algo inesperado e muito mais urgente: um aneurisma da aorta abdominal. A qualquer momento ela poderia arrebentar. Nelson tinha de ser operado e o grande especialista nacional era o doutor Puech de Leão, em São Paulo.
Nelson cruzou a Rio—São Paulo de ambulância e a operação realizou-se no Hospital Nove de Julho. No dia seguinte teve uma hemorragia interna e precisou ser reoperado. Se a primeira cirurgia já era arriscada, a segunda podia ser fatal. Era a única saída e Stella, irmã de Nelson, autorizou-a. A hemorragia foi estancada, mas Nelson teve insuficiência respiratória e atravessou quinze dias de delírios. Stella passou esses quinze dias e quinze noites sentada à sua cabeceira — suas pernas incharam como se tivesse elefantíase. Durante esse tempo doutor Murad teve de ir vê-lo várias vezes em São Paulo. As passagens foram fornecidas pela TV Globo através de Armando Nogueira.
Nelson foi trazido de volta ao Rio na ambulância e chegou à Beneficência Portuguesa roxo de cianose, quase sem respirar. Por três vezes esteve perto de morrer. Doutor Jesse Teixeira fez-lhe uma traqueotomia. Quando o tubo endotraquial era retirado, Nelson entrava de novo em delírio. Alternou delírios e lucidez durante mais um mês. Ao ficar bom, ouviu de todos os médicos que, agora, era oficial: tinha de parar de fumar. Acatou a ordem e, a partir daí, passou a fumar oficialmente escondido.
Menos de três anos depois, em abril de 1977, foi internado no Prontocor da lagoa com uma arritmia ventricular grave e nova insuficiência respiratória. Suas veias já não se prestavam a injeções e sua irmã Irene tinha de alimentá-lo por via oral. Mas Nelson quase não conseguia abrir a boca. Emagreceu a ponto de lembrar um egresso de campo de concentração. Subitamente perdeu os reflexos e pareceu ter ficado cego. Voltou a si pela medicação de seu neurocirurgião, doutor João Elias, mas teve uma diarréia que quase o levou de novo. O exame proctológico feito pelo gastrenterologista, doutor Alfredo Burke, revelou uma gravíssima colite ulcerativa. O medicamento que o salvou era americano e, segundo Stella, foi conseguido em 24 horas por Walter Clark, que mandou buscá-lo em Nova York pela TV Globo.
Durante essa internação de 1977, os departamentos de pesquisa dos jornais começaram a ouvir pessoas e a preparar os obituários de Nelson Rodrigues. Salim Simão, agora no “Jornal do Brasil”, teve acesso a esse material. Quando Nelson se recuperou, Salim contou-lhe que, entre os entrevistados pelo “Jornal do Brasil”, estava Alceu Amoroso Lima, que falou carinhosamente a seu respeito. “Eu, quando morrer, ou o Nelson morrer, nós nos faremos justiça”, teria dito Alceu.
Foi o que bastou para Nelson nunca mais atacá-lo. (Em 1980, Zuenir Ventura promoveria o abraço entre os dois.)
Mas Nelson perdera o gume para as polêmicas em sua coluna. As próprias “Confissões” haviam sido interrompidas em 1975. Suas longas internações impediam-no de escrever e a republicação de colunas antigas nem sempre funcionava. Além disso, os leitores fiéis percebiam. Limitou-se à coluna de futebol, onde, muitas vezes, inventava um pretexto para falar dos amigos, mesmo que estes nunca tivessem visto uma bola. Até mesmo ao Maracanã já não ia tanto — justamente agora que, de óculos desde 1975, era capaz de enxergar em campo o time de seus sonhos: o Fluminense de Rivelino, Carlos Alberto, Edinho, Rodrigues Neto, Doval, Dirceu e Paulo César — a “Máquina” que Francisco Horta montara aquele ano e que o próprio Horta iria desmontar em 1976, vendendo o time inteiro e deixando órfãos todos os tricolores como Nelson.
Nelson escreveu sua grande e última peça — “A serpente” — em meados de 1979, pouco antes de envolver-se num turbilhão que exigiria tudo até dos mais arejados pulmões e do mais possante coração. De julho para agosto, Nelsinho e os treze últimos presos políticos cariocas sustentaram uma greve de fome pela transformação da anistia ampla em anistia total e irrestrita. No dia 21 de agosto, o Congresso votou a lei que o governo queria, excluindo-os da anistia. No dia 22, o 32º da greve, os presos encerraram o protesto, antes que alguém morresse. No dia seguinte, 23 — dia dos 67 anos de Nelson —, Nelsinho teve permissão para deixar o presídio e assistir ao nascimento de sua filha Cristiana.
Como seu avô Mário Rodrigues, ele também gerara uma filha na prisão —com sua companheira Cristina, quando ela o visitava. A cesariana fora marcada para coincidir com o aniversário de Nelson. Nelsinho chegou algemado à maternidade Clara Basbaun, em Botafogo, na presença de uma multidão de repórteres, e assistiu ao parto. Nelson emocionou-se ao saber que ganhara uma neta. (Joffre tinha dois garotos.) Nascida a criança, Nelsinho foi levado de volta para a “Veraneio” dos órgãos de segurança e devolvido ao presídio na Frei Caneca.
Estava aguardando desde fevereiro o julgamento do recurso que lhe daria a liberdade condicional. Durante aquele tempo Nelson pedira a “anistia total” em dezenas de entrevistas. Com a derrota desta no Congresso, a luta passara a ser pela liberdade condicional. A 14 de outubro, Nelson foi novamente apelar a Figueiredo no “Programa Flávio Cavalcanti”, a convite do apresentador e de Marisa Urban. Flávio providenciara uma ambulância na garagem da TV Tupi, temendo que Nelson pudesse precisar — e ele quase precisou. Ao ver um teipe de Nelsinho na prisão dirigindo-se a ele — “Alô, pai!” —, Nelson sentiu-se mal. Enquanto Salim Simão, que o acompanhara, fazia um discurso libertário para as câmaras, Nelson teve de tomar um “Isordil”. E, no dia seguinte. 15, foi para o Pró-Cardíaco, em Botafogo, com insuficiência respiratória e coronariana.
No dia 16, Nelsinho recebeu a liberdade condicional. Aos 34 anos, voltava para casa, para dedicar-se a seu pai. Mas, naquele dia, Nelson não pôde recebe-lo. Estava inconsciente na casa de saúde.
Dois anos antes, em fins de 1977, outra pessoa voltara para a casa de Nelson: Elza, sua primeira mulher.
Na verdade nunca tinham estado muito longe um do outro durante aquela década — desde, pelo menos, a prisão de Nelsinho. Viam-se quase toda noite no “Bigode do meu tio” e, quando o restaurante deixara de existir em 1973; continuaram a encontrar-se nas visitas a Nelsinho nos diversos presídios. Nas cirurgias e internações de Nelson, Eira deu dedicado plantão nos hospitais e, quando ele recebia alta, ela ia vê-lo no apartamento do Leme. Quando Nelson resolveu voltar a viver com Eira, Joffre recebeu a notícia como se fosse um “presente de Natal”. Haviam passado catorze anos separados, mas tinham toda uma vida em comum.
Pouco antes, em 1976, Nelson acabara de protagonizar outro reencontro: com Carolina, a garota do Colégio Bennett pela qual se apaixonara em 1929. Carolina tinha então catorze anos e era noiva de Arilno, o qual, ao perceber as intenções de Nelson, pusera-o para correr. E nunca mais se tinham visto. Carolina não tinha mais catorze anos. Tinha agora 61, era viúva e bisavó, mas essa descrição não lhe fazia justiça. Pitanguy deixara-a sem uma ruga. Seus dentes eram perfeitos e dela mesma; era vaidosa, elegante e esfuziante. O reencontro, 47 anos depois, fora promovido por sua ex-colega Maria Clara, irmã de Nelson.
Nelson acendeu-se. Carolina pediu permissão aos filhos Roberto e Ana Maria para “namorar”. Eles a concederam mais que depressa porque, recém-viúva, aquilo só poderia fazer-lhe bem. Nelson ia visitá-la duas ou três vezes por semana em seu apartamento na rua Rainha Guilhermina, no Leblon. Ela lhe servia sucos e café e, fumante fanática (três maços de “Hollywood” por dia), permitia que ele contrariasse as ordens médicas e desse umas tragadas. Mas, no Natal de 1977, Nelson voltou com Elza e falava disso com orgulho para os repórteres. Voltara a ser o homem do casamento eterno. As visitas a Carolina ficaram mais espaçadas e Carolina compreendeu. No último ano de Nelson, 1980, quase não se viram.
Mesmo porque, no primeiro semestre de 1980, Nelson teve a última de suas paixões crepusculares: Ana Lúcia Magalhães Pinto, filha do velho político mineiro e, na época, separando-se de seu marido, o psicanalista Eduardo Mascarenhas. Nelson a conhecera com Mascarenhas, por quem estava fascinado desde que lera um entusiasmado ensaio do psicanalista sobre a sua obra. Nelson vibrara com o uso que Mascarenhas fizera do conceito freudiano do “perverso polimorfo” para definir os seus personagens. Passou a ligar-lhe toda tarde para perguntar:
“Mascarenhas, qual é a última do ‘perverso polimorfo’?” — como se esse fosse não um conceito, mas uma figura de carne e osso. Numa reunião Nelson conheceu Ana Lúcia e, diante dela, o “perverso polimorfo” passou para segundo plano.
Nelson sabia que Ana Lúcia e Eduardo estavam se separando, com o que se sentiu livre para fazer-lhe declarações. Pedia a Ana Lúcia que mandasse alguém a “O Globo” para pegar as cartas que lhe escrevia. Uma dessas cartas convidava-a para a estréia de “A serpente”, no teatro do BNH, em 6 de março, e dizia:
Se todos me vaiarem e só você me aplaudir, ainda assim eu me sentirei como um Napoleão coroado.
Ana Lúcia sentia-se envaidecida por aquela devoção, mas não queria permitir qualquer aproximação de Nelson, exceto por cartas ou telefonemas. Entre outros motivos, não sabia se queria separar-se de seu marido. Além disso, Nelson ia fazer 68 anos — e ela mal passara dos trinta. Muita diferença de idade.
Nelson foi queixar-se a Hélio Pellegrino:
“Ela diz que eu tenho idade para ser pai dela.”
E Hélio, amigo de Nelson e mentor de Mascarenhas, só que louco para ver fogo no circo:
“Mas, Nelson, essa é a maior homenagem que uma mulher pode fazer a um homem: compará-lo ao próprio pai!”
Finalmente Ana Lúcia decidiu que não queria separar-se de Mascarenhas e disse delicadamente a Nelson: “Acho que você não devia me ligar mais”. Nelson suspirou. Mandou-lhe um exemplar de seu mais corajoso livro de crônicas, “O reacionário”, com a dedicatória: “A Ana Lúcia, meu último amor” — e deixou de ligar.
“Nós, os velhos, precisamos de um mínimo de puerilidade encantada, sem a qual seríamos múmias inteiramente gagás” — ele escrevera numa de suas melhores “Confissões”.
Para quem, como se disse, precisava viver num permanente estado de paixão, nem sempre uma mulher foi suficiente para a carga amorosa de Nelson. Ele jurou amor eterno a inúmeras mulheres, várias ao mesmo tempo, e provavelmente estava dizendo a verdade para todas. Tinha uma explicação para isso:
“O amoroso é sincero até quando mente.”
- 1980 - O ANJO SOBE AO CEU
Nelson morreu poucos minutos antes das oito da manhã do dia 21 de dezembro de 1980, um domingo. No fim da tarde daquele dia ele faria treze pontos na loteria esportiva, num “bolo” com seu irmão Augustinho e alguns amigos de “O Globo”.
Fora internado há dez dias no Clinerj, nas Laranjeiras, com um edema pulmonar, e submetido a nova traqueotomia. Desde então entrara e saíra de coma como os personagens que faziam aparições relâmpago em suas peças. Um mês antes, já passara pelo Pró-Cardíaco, em Botafogo, com crises respiratórias que lhe provocavam delírios, durante os quais, como sempre, ‘descrevia a máquina com os dois dedos. Muitas vezes, durante aquele novembro e dezembro, os jornais seguraram seus fechamentos esperando a notícia de sua morte. Mas Nelson fazia de um fio de vida o trapézio para a ressurreição.
Na madrugada de 21 de dezembro, ele resistira a sete paradas cardíacas. Entrara de novo em coma e doutor João Elias aplicara-lhe um marcapasso. Mas, pela manhã, Nelson morreria de trombose e de insuficiência cárdiaca, respiratória e circulatória. Tinha 68 anos. Por tudo que passara, parecia velho de séculos.
Carlos Heitor Cony tentaria localizar Arnaldo Niskier, secretário da Cultura do estado, para que Nelson fosse velado no único cenário adequado para recebê-lo: o saguão do Teatro Municipal. Mas Niskier estava fora do Rio e do alcance de telefonemas. E, então, restou a Nelson o velório que ele desprezava: na capelinha do Cemitério São João Batista, sob o alarido dos pires e xícaras. Milhares de pessoas foram vê-lo. À tarde a seleção brasileira jogava contra a Suíça em Cuiabá, MT. Foi guardado um minuto de silêncio — não antes do jogo, mas durante a partida. O Brasil inteiro assistiu pela televisão quando o juiz Arnaldo César Coelho paralisou a bola para a homenagem a Nelson Rodrigues.
No dia seguinte, ao meio-dia, sob um sol de quarenta graus, Nelson foi enterrado na sepultura 18 340-A da quadra 43 do São João Batista. Dois meses depois, Elza cumpriu o seu pedido — de, ainda em vida, gravar o seu nome ao lado do dele na lápide, sob a inscrição: “Unidos para além da vida e da morte. É só”.
Nelson morrera a poucos dias do Natal, uma data que, para ele, transcendia profundamente a vulgaridade das folhinhas e das promoções das lojas de varejo. Alguns anos antes, numa noite de solidão, ele escrevera uma curta e definitiva crônica de Natal para “O Globo”, intitulada “A vigília dos pastores”.
Como se orasse pelo momento de subir ao céu, o anjo pornográfico dizia:
Escrevo à noite. Vem na aragem noturna um cheiro de estrelas. E, súbito, eu descubro que estou fazendo a vigília dos pastores. Aí está o grande mistério. A vida do homem é essa vigília e nós somos eternamente os pastores. Não importa que o mundo esteja adormecido. O sonho faz quarto ao sono. E esse diáfano velório é toda a nossa vida. O homem vive e sobrevive porque espera o Messias. Neste momento, por toda a parte, onde quer que exista uma noite, lá estarão os pastores — na vigília docemente infinita. Uma noite, Ele virá. Com suas sandálias de silêncio entrará no quarto da nossa agonia. Entenderá nossa última lágrima de vida.
Ruy Castro
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















