



Biblio VT




No dia 18 de outubro de 1969, a Natividade com São Francisco e São Lourenço de Caravaggio desapareceu do Oratorio di San Lorenzo, em Palermo, na Sicília. A Natividade, como é habitualmente conhecida, é uma das últimas grandes obras-primas de Caravaggio, pintada em 1609 quando o autor andava fugido à justiça, procurado pelas autoridades papais por ter matado um homem numa luta de espadas. Há já mais de quatro décadas que esse retábulo é o quadro roubado mais procurado do mundo e, no entanto, o seu paradeiro exato, inclusive o seu destino, permanece um mistério. Até agora…
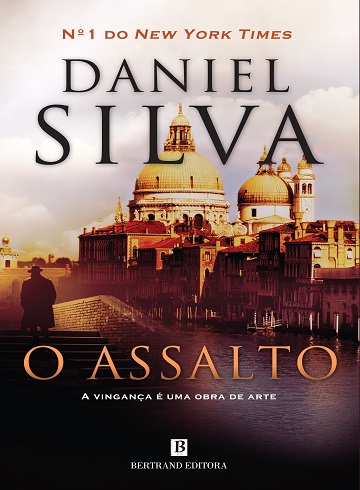
Tudo começou com um acidente, mas era invariavelmente isso que acontecia quando estava em causa Julian Isherwood. Com efeito, a sua reputação em matéria de loucuras e infortúnios estava tão incontestavelmente consagrada que o mundo da arte londrino, se tivesse tido conhecimento do caso, o que não sucedeu, não teria esperado outra coisa. Segundo as palavras de um espirituoso do departamento dos Velhos Mestres da Sotheby’s, Isherwood era o santo padroeiro das causas perdidas, um autêntico equilibrista com tendência para estratagemas cuidadosamente planeados que terminavam em ruínas, muitas vezes sem que tivesse qualquer culpa. Consequentemente, era ao mesmo tempo alvo de admiração e de pena, característica rara num homem da sua posição. Julian Isherwood tornava a vida um pouco menos entediante. E, por causa disso, a gente fina de Londres adorava-o.
A sua galeria ficava no canto mais distante do pátio quadrangular e de chão empedrado conhecido como Mason’s Yard, ocupando três andares de um armazém a dar de si e que pertencera em tempos à Fortnum & Mason. De um lado, ficavam os escritórios londrinos de uma transportadora grega de pouca monta; do outro, um pub que tinha como clientela estafetas bonitas que andavam de motorizada. Muitos anos atrás, antes de as vagas sucessivas de dinheiro árabe e russo terem inundado o mercado imobiliário londrino, a galeria estava localizada na chique New Bond Street, ou New Bondstrasse, como era conhecida no ramo. A seguir, vieram as marcas do género Hermès, Burberry, Chanel e Cartier, forçando Isherwood e outros como ele — negociantes independentes e especializados em quadros dos Velhos Mestres de categoria museológica — a procurar refúgio em St. James’s.
Não tinha sido a primeira vez que Isherwood fora obrigado a exilar-se. Nascido em Paris, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, e o único filho do célebre negociante de arte Samuel Isakowitz, tinha sido levado para os Pirenéus a seguir à invasão germânica, entrando depois clandestinamente no Reino Unido. A infância parisiense e a linhagem judia eram apenas duas peças de um passado complexo que Isherwood mantinha em segredo do resto do mundo da arte londrino, famoso pela maledicência. Tanto quanto se sabia, era inglês até à medula — tão inglês como o lanche ajantarado e os dentes podres, como gostava de dizer. Era o incomparável Julian Isherwood, Julie para os amigos, Julian Sumarento para os parceiros nos ocasionais crimes de bebida e Sua Santidade para os historiadores de arte e os curadores que recorriam rotineiramente ao seu olho infalível. Era tão leal como o dia era comprido, confiava nas pessoas em demasia, era impecavelmente bem-educado e não tinha verdadeiros inimigos, um feito singular tendo em conta que passara duas vidas inteiras a navegar nas águas traiçoeiras do mundo da arte. Acima de tudo, Julian Isherwood era um homem decente — e nos tempos que corriam, não havia muita decência, em Londres ou em qualquer outro sítio.
A Isherwood Fine Arts estava organizada verticalmente: armazéns a abarrotar no rés do chão, escritórios no primeiro andar e uma sala de exposições formal no segundo. Considerada por muitos a mais gloriosa de toda a Londres, a sala de exposições era uma réplica exata da famosa galeria parisiense de Paul Rosenberg, onde Isherwood tinha passado muitas horas felizes durante a infância, várias vezes na companhia de Picasso em pessoa. A zona dos escritórios era um labirinto dickensiano atafulhado até ao cimo de catálogos e monografias amarelecidos. Para lá chegar, os visitantes tinham de passar por duas portas de vidro protegidas, a primeira à saída de Mason’s Yard e a segunda no topo de umas escadas estreitas com uma alcatifa castanha manchada. A seguir, encontrariam Maggie, uma loira de olhar sonolento que não sabia distinguir um Ticiano de papel higiénico. Em tempos, Isherwood fizera uma completa figura de parvo ao tentar seduzi-la e, não lhe restando outra alternativa, acabou por contratá-la como rececionista. Naquele momento, estava a lixar as unhas enquanto o telefone que tinha na secretária ia tocando sem que o atendessem.
— Importas-te de atender, Mags? — perguntou Isherwood com benevolência.
— Para quê? — respondeu ela, sem ponta de ironia na voz.
— Pode ser importante.
Revirou os olhos e depois levantou o auscultador com um ar ofendido para o encostar ao ouvido e ronronar:
— Isherwood Fine Arts.
Passados uns segundos, desligou sem dizer mais uma palavra e recomeçou a tratar das unhas.
— E então? — perguntou Isherwood.
— Não havia ninguém na linha.
— Faz-me um favor, querida, e vê de que número estavam a ligar.
— Vão ligar outra vez.
Franzindo o sobrolho, Isherwood retomou a avaliação silenciosa do quadro que se encontrava em cima do cavalete forrado a baeta, a meio da sala — uma representação de Cristo a surgir diante de Maria Madalena, provavelmente da autoria de um seguidor de Francesco Albani e que Isherwood, pouco tempo antes, tinha sacado por uma ninharia de uma herdade no Berkshire. O quadro, tal como o próprio Isherwood, estava a precisar urgentemente de restauro. Atingira a idade a que os gestores de bens chamam o outono da vida. Mas não era um outono dourado, pensou sorumbaticamente. Era um outono tardio, com o vento cortante como uma faca e as iluminações de Natal a brilharem ao longo da Oxford Street. Ainda assim, com o fato feito à mão em Savile Row e os fartos caracóis grisalhos, revelava-se uma figura elegante mesmo que precária, um visual que descrevia como depravação dignificada. Naquela fase da vida, não podia almejar a mais nada.
— Pensava que um russo qualquer horroroso ia passar cá às quatro para ver um quadro — disse Isherwood de repente, continuando a perscrutar a tela gasta.
— O russo horroroso cancelou.
— Quando?
— Hoje de manhã.
— Porquê?
— Não disse.
— E porque não me avisaste?
— Avisei.
— Que disparate.
— Deves ter-te esquecido, Julian. Anda a acontecer-te muita coisa ultimamente.
Isherwood lançou um olhar fulminante a Maggie, ao mesmo tempo que se interrogava como era possível ter-se sentido atraído por uma criatura tão repugnante. A seguir, sem mais nenhum compromisso agendado e claramente sem nada melhor para fazer, enfiou o sobretudo e marchou até ao Green’s Restaurant and Oyster Bar, dando assim início a uma sucessão de acontecimentos que o levaria a mais outra calamidade na qual não tinha responsabilidade. Eram quatro e vinte da tarde. Era um bocadinho cedo para a multidão habitual e o bar estava vazio, tirando Simon Mendenhall, o principal leiloeiro da Christie’s, permanentemente bronzeado. Mendenhall desempenhara em tempos um papel involuntário numa operação conjunta dos serviços secretos israelitas e americanos com o objetivo de penetrar numa rede terrorista jihadista que andava a bombardear a Europa Ocidental a torto e a direito. Isherwood estava ciente disso porque também tinha desempenhado um papel menos importante na operação. Isherwood não era espião. Era ajudante de espiões, e de um em especial.
— Julie! — exclamou Mendenhall. Depois, com a voz de cama que reservava para os licitadores relutantes, acrescentou: — Estás com um aspeto absolutamente maravilhoso. Perdeste peso? Foste a algum spa dos carotes? Há por aí rapariga nova? Qual é o teu segredo?
— Sancerre — respondeu Isherwood antes de se instalar na mesa habitual ao lado da janela com vista para a Duke Street.
E foi aí sentado que pediu uma garrafa desse vinho, brutalmente frio, já que um copo não iria chegar. Passado pouco tempo, Mendenhall foi-se embora com o habitual floreado e Isherwood ficou sozinho com os próprios pensamentos e a bebida, uma combinação perigosa para um homem de idade avançada e com a carreira em completa marcha-atrás.
Mas a porta lá acabou por se abrir e da rua molhada e a escurecer brotaram dois curadores da National Gallery. Depois veio uma pessoa importante da Tate, seguida de uma delegação da Bonhams encabeçada por Jeremy Crabbe, o diretor, adepto de roupa de tweed, do departamento dos Velhos Mestres da leiloeira. Logo atrás, chegou Roddy Hutchinson, amplamente considerado o negociante com menos escrúpulos de toda a Londres. A sua chegada era um mau presságio, pois para onde quer que Roddy fosse, o barrigudo Oliver Dimbleby também apareceria de certeza. Conforme se esperava, entrou no bar a bambolear-se passados uns minutos, com toda a discrição de um apito de comboio à meia-noite. Isherwood pegou no telemóvel e fingiu que estava a ter uma conversa urgente, mas Oliver não se deixou enganar. Avançou diretamente para a mesa — como um cão de caça a aproximar-se cada vez mais de uma raposa, recordaria Isherwood mais tarde — e instalou o volumoso traseiro na cadeira desocupada.
— Domaine Daniel Chotard — disse num tom de aprovação, tirando a garrafa de vinho do balde com gelo. — Não digo que não.
Usava um fato azul à anos oitenta, que se ajustava à sua constituição corpulenta como a pele de uma salsicha, e grandes botões de punho de ouro do tamanho de xelins. Tinha faces redondas e rosadas; os olhos azuis brilhavam com uma intensidade que davam a entender que dormia bem à noite. Oliver Dimbleby era um pecador do mais alto calibre, mas a consciência não o incomodava.
— Não leves isto a mal, Julie — disse ao servir-se de uma dose generosa do vinho de Isherwood —, mas pareces um monte de roupa suja.
— Não foi isso que o Simon Mendenhall disse.
— O Simon ganha a vida a convencer as outras pessoas a gastarem dinheiro. Eu, por outro lado, só digo a verdade nua e crua, mesmo quando ela dói.
Dimbleby fixou o olhar em Isherwood com uma expressão de preocupação sincera.
— Oh, não olhes para mim dessa maneira, Oliver.
— Qual maneira?
— Como se estivesses a tentar lembrar-te de qualquer coisa simpática para dizer antes de o médico desligar a máquina.
— Já te olhaste ao espelho ultimamente?
— Hoje em dia, ando a tentar evitar os espelhos.
— Já percebi porquê.
Dimbleby despejou mais um pouco de vinho no copo.
— Queres que te arranje mais alguma coisa, Oliver? Um bocadinho de caviar?
— Não retribuo sempre?
— Não, Oliver, não retribuis. Aliás, se andasse a contar, coisa que não ando, já me estavas a dever vários milhares de libras.
Dimbleby ignorou o comentário.
— O que se passa, Julian? O que te anda a apoquentar desta vez?
— Neste preciso momento, és tu, Oliver.
— É aquela rapariga, não é, Julie? É por isso que andas em baixo. Como é que ela se chamava mesmo?
— Cassandra — respondeu Isherwood para a janela.
— Partiu-te o coração, não foi?
— Partem-mo sempre.
Dimbleby sorriu.
— A tua capacidade para o amor é assombrosa. O que eu não dava para me apaixonar só uma vez que fosse.
— És o maior mulherengo que eu conheço, Oliver.
— Ser mulherengo tem muito pouco que ver com estar apaixonado. Adoro as mulheres, as mulheres todas. E é aí que reside o problema.
Isherwood pôs-se a olhar para a rua. Tinha começado a chover outra vez, mesmo a tempo da hora de ponta ao final da tarde.
— Vendeste algum quadro ultimamente? — perguntou Dimbleby.
— Vários, por acaso.
— Não ouvi falar de nada.
— Porque as vendas foram privadas.
— Tretas — respondeu Oliver, com um risinho trocista. — Há meses que já não vendes nada. Mas isso não te impediu de adquirir stock novo, pois não? Quantos quadros tens guardados naquele teu armazém? Davam para encher um museu e ainda sobravam uns milhares. E estão todos queimadíssimos, mortos e enterrados, como se costuma dizer.
A única reação de Isherwood foi coçar o cóccix. Tinha substituído uma tosse demoníaca e era agora o que mais o incomodava fisicamente. Pôs-se a pensar que sempre era melhor. Dores nas costas não causavam mossa aos vizinhos.
— A minha proposta continua de pé — estava a dizer Dimbleby.
— E qual proposta?
— Então, Julie. Não me obrigues a dizê-lo com todas as letras.
Isherwood rodou a cabeça ligeiramente e fitou a cara rechonchuda e infantil de Dimbleby.
— Não estás a falar outra vez em comprar a minha galeria, pois não?
— Estou preparado para ser mais do que generoso. Ofereço-te um preço justo pela pequena parte da tua coleção que é possível vender e sirvo-me do resto para aquecer o prédio.
— É muito caridoso da tua parte — respondeu Isherwood sardonicamente —, mas tenho outros planos para a galeria.
— Realistas?
Isherwood ficou calado.
— Muito bem — disse Dimbleby. — Se não me deixas ficar com esse verdadeiro destroço a que chamas galeria, pelo menos deixa-me fazer outra coisa para te ajudar a arrancar do teu atual Período Azul.
— Não quero nenhuma das tuas raparigas, Oliver.
— Não estou a falar de rapariga nenhuma. Estou a falar de uma viagem agradável para te ajudar a esquecer os problemas.
— Onde?
— Lago Como. Com as despesas todas pagas. Bilhete de avião em classe executiva. Duas noites numa suíte de luxo do Villa d’Este.
— E o que tenho eu de fazer em troca?
— Um pequeno favor.
— Pequeno, como?
Dimbleby serviu-se de mais outro copo de vinho e contou o resto a Isherwood.
Segundo parecia, Oliver Dimbleby tinha conhecido há pouco tempo um inglês expatriado que colecionava sofregamente, mas sem o auxílio de um conselheiro artístico experimentado que o orientasse. Além do mais, as finanças do inglês pelos vistos já não eram o que tinham sido em tempos, o que obrigava a que parte das suas posses fosse vendida rapidamente. Dimbleby aceitara dar uma vista de olhos discreta à coleção, mas agora que a viagem se avizinhava, não conseguia enfrentar a perspetiva de entrar noutro avião. Ou assim dizia. Isherwood suspeitava que os verdadeiros motivos de Dimbleby para recuar na decisão de viajar fossem outros, já que Oliver Dimbleby era a personificação dos motivos ulteriores.
Ainda assim, havia qualquer coisa na ideia de uma viagem inesperada que atraía Isherwood, pelo que, apesar de saber que provavelmente não o devia fazer, aceitou a proposta de imediato. Nessa noite, fez as malas com pouca roupa e, às nove da manhã seguinte, estava a instalar-se no lugar em classe executiva no voo 576 da British Airways, com ligação direta ao Aeroporto de Malpensa, em Milão. Bebeu apenas um único copo de vinho durante o voo — para bem do coração, disse a si próprio — e, ao meio-dia e meia, ao entrar para um Mercedes alugado, estava na plena posse das suas capacidades. Fez a viagem de carro para norte, em direção ao lago Como, sem auxílio de qualquer mapa ou instrumento de orientação. Sendo um historiador de arte altamente conceituado cuja especialização eram os pintores venezianos, Isherwood tinha viajado inúmeras vezes até Itália para percorrer igrejas e museus. Ainda assim, nunca deixava passar uma possibilidade de lá voltar, sobretudo quando era outra pessoa a pagar as despesas. Julian Isherwood era francês por nascimento e inglês por via da educação, mas dentro do peito escavado batia-lhe o coração romântico e indisciplinado de um italiano.
O inglês expatriado das finanças progressivamente diminutas estava à espera de Isherwood às duas. Vivia em grande estilo, de acordo com o e-mail redigido à pressa por Dimbleby, na ponta sudoeste do lago, perto da cidade de Laglio. Isherwood chegou uns minutos mais cedo e deu com o portão imponente aberto, pronto a recebê-lo. Do outro lado, estendia-se um caminho de entrada acabado de pavimentar, que o levou com graciosidade a um pátio de cascalho. Estacionou ao lado do cais privado da villa e dirigiu-se para a porta da rua, passando por estátuas cheias de bolor. Quando tocou à campainha, ninguém apareceu. Isherwood confirmou que horas eram antes de tocar à campainha uma segunda vez. O resultado foi o mesmo.
Nesse momento, o mais sensato que Isherwood poderia ter feito seria voltar para o carro alugado e sair de Como o mais depressa possível. Em vez disso, experimentou o trinco e, infelizmente, viu que a porta não estava trancada. Abriu-a uns centímetros, gritou um cumprimento para o interior às escuras e depois avançou de forma titubeante para o majestoso átrio de entrada. Reparou de imediato na poça de sangue no chão de mármore, nos dois pés descalços suspensos no ar e na cara inchada, de um azul muito escuro, a olhar para baixo. Isherwood sentiu os joelhos a ceder e viu o chão erguer-se para o receber. Ficou ali ajoelhado um instante até a vaga de náusea lhe passar. A seguir, levantou-se, cambaleante, e, com a mão a tapar a boca, saiu da villa aos tropeções, em direção ao carro. E ainda que na altura não tivesse dado conta, ia amaldiçoando o nome do atarracado Oliver Dimbleby a cada passo.
Ao início da manhã seguinte, Veneza perdeu mais uma escaramuça na guerra antiga que travava com o mar. As águas das cheias levaram todo o tipo de criaturas marinhas para dentro do átrio do Hotel Cipriani e inundaram o Harry’s Bar. Turistas dinamarqueses foram tomar um banho matinal na Piazza San Marco; havia mesas e cadeiras do Caffè Florian a bater repetidamente nos degraus da basílica, como se fossem destroços de um transatlântico de luxo afundado. Por uma vez, não havia pombos em lado nenhum. A maioria tinha fugido sensatamente da cidade submersa, à procura de terra seca.
No entanto, havia partes de Veneza em que a acqua alta era mais um incómodo do que uma calamidade. Com efeito, o restaurador conseguiu dar com um arquipélago de terra razoavelmente seca que se prolongava da porta do seu apartamento no sestiere de Cannaregio até Dorsoduro, na extremidade sul da cidade. O restaurador não tinha nascido em Veneza, mas conhecia-lhe as ruelas e praças melhor do que a maioria dos nativos. Estudara o ofício em Veneza, amara e fizera luto em Veneza e, uma vez, quando era conhecido por outro nome que não o dele, fora obrigado pelos inimigos a fugir de Veneza. Agora, depois de uma longa ausência, regressara à sua adorada cidade de água e quadros, a única cidade onde tinha sequer sentido qualquer coisa minimamente parecida com contentamento. Mas paz, não; para o restaurador, a paz era apenas o período entre a última guerra e a seguinte. Era efémera, uma falsidade. Os poetas e as viúvas sonhavam com ela, mas homens como o restaurador nunca se permitiam ser seduzidos pela noção de que a paz até poderia ser possível.
Parou num quiosque para ver se estava a ser seguido e depois continuou no mesmo sentido. Tinha uma estatura abaixo da média — talvez um metro e setenta e dois, mas não mais do que isso — e o físico delgado de um ciclista. A cara era comprida, com um queixo estreito, maçãs do rosto largas e um nariz fino que parecia ter sido esculpido em madeira. Os olhos que espreitavam por baixo da aba da boina eram de um verde invulgar; o cabelo, da cor da cinza nas têmporas. Trazia um oleado e umas botas impermeáveis, mas não um chapéu para se proteger da chuva constante. Por hábito, em público, nunca se deixava ficar preso a qualquer objeto que pudesse dificultar o movimento rápido das mãos.
Entrou em Dorsoduro, o ponto mais elevado da cidade, e dirigiu-se para a Igreja de San Sebastiano. A entrada principal estava fechada a sete chaves e havia um aviso com aspeto oficial a explicar que o edifício ia ficar fechado ao público até ao outono seguinte. O restaurador aproximou-se de uma porta mais pequena no lado direito da igreja e abriu-a com uma chave-mestra pesada. Uma lufada de ar fresco vinda do interior acariciou-lhe a face. Fumo de velas, incenso e bolor velho: havia qualquer coisa no cheiro que lhe recordava a morte. Fechou a porta depois de entrar, esquivou-se de uma pia batismal cheia de água benta e avançou.
A nave estava às escuras e não havia bancos. O restaurador caminhou em silêncio pelas pedras lisas e gastas pelo tempo, atravessando discretamente o portão aberto do gradeamento do altar. Tinham tirado a mesa eucarística ornamentada para a limpar; no lugar desta, erguia-se um andaime de alumínio de nove metros. O restaurador trepou-o com a agilidade de um gato doméstico e passou para o outro lado de uma capa de lona, mais uma vez discretamente, entrando na plataforma onde estava a trabalhar. O material encontrava-se precisamente como o tinha deixado na noite anterior: frascos com produtos químicos, algodão hidrófilo, umas quantas cavilhas de madeira, uma lupa, dois candeeiros com potentes lâmpadas de halogéneo e uma aparelhagem portátil manchada de tinta. O retábulo — Virgem e o Menino em Glória com Santos, de Paolo Veronese — também se encontrava como o tinha deixado. Era apenas um de vários quadros notáveis que Veronese produzira para a igreja entre 1556 e 1565. A tumba dele, com um busto de mármore sombrio, ficava do lado esquerdo do presbitério. Naqueles momentos, quando a igreja estava vazia e às escuras, o restaurador quase conseguia sentir o fantasma de Veronese a observá-lo a trabalhar.
O restaurador acendeu os candeeiros e deixou-se ficar parado diante do retábulo durante um longo momento. No cimo, estavam Maria e o Menino Jesus, sentados em cima de nuvens de glória e rodeados por anjos músicos. Por baixo, olhando para cima em êxtase, encontrava-se um grupo de santos, incluindo o santo padroeiro da igreja, Sebastião, que Veronese representou em martírio. Ao longo das três semanas anteriores, o restaurador tinha estado a retirar meticulosamente o verniz rachado e amarelecido com uma mistura cuidadosamente calibrada de acetona, acetato metílico e essências minerais. Conforme gostava de explicar, retirar o verniz de um quadro barroco não era a mesma coisa que desmontar uma mobília; era mais parecido com esfregar o convés de um porta-aviões com uma escova de dentes. Primeiro tinha de preparar uma mecha com o algodão hidrófilo e uma cavilha de madeira. Depois de humedecer a mecha com o solvente, aplicava-a na superfície da tela e girava-a com delicadeza para que a tinta não lascasse ainda mais. Cada mecha era capaz de limpar cerca de seis centímetros quadrados do quadro até ficar demasiado suja para se poder continuar a utilizar. À noite, quando não estava a sonhar com sangue e fogo, o restaurador estava a retirar verniz amarelecido de uma tela do tamanho da Piazza San Marco.
Mais uma semana, pensou, e a seguir estaria pronto para passar à segunda fase do restauro, retocando as partes da tela em que a tinta original de Veronese tinha lascado. As figuras de Maria e do Menino Jesus não tinham sofrido praticamente danos, mas o restaurador descobrira grande deterioração no topo e na parte de baixo da tela. Se tudo corresse conforme planeado, terminaria o restauro quando a mulher estivesse a entrar nas últimas semanas da gravidez. Se tudo corresse conforme planeado, pensou outra vez.
Introduziu um CD da ópera La Bohème na aparelhagem e, passado um momento, o santuário encheu-se das notas iniciais de Non sono in vena. Ao mesmo tempo que Rodolfo e Mimi se estavam a apaixonar num estúdio minúsculo numas águas-furtadas parisienses, o restaurador encontrava-se sozinho diante do Veronese, a retirar meticulosamente a sujidade da superfície e o verniz amarelecido. Foi trabalhando sem parar e a um ritmo tranquilo — molhar, girar, deitar fora… molhar, girar, deitar fora — até a plataforma ficar cheia de bolas acres de algodão sujo. Veronese tinha aperfeiçoado fórmulas para tintas que não esmoreciam com os anos; e à medida que o restaurador ia retirando cada porção diminuta de verniz castanho cor de tabaco, as cores por baixo brilhavam intensamente. Quase parecia que o mestre tinha aplicado a tinta na tela apenas na véspera e não há quatro séculos e meio.
O restaurador teve a igreja por conta dele mais duas horas. Às dez, ouviu o barulho de botas a atravessar o chão de pedra da nave. As botas pertenciam a Adrianna Zinetti, limpadora de altares e sedutora de homens. Depois veio Lorenzo Vasari, um talentoso restaurador de frescos que ressuscitara quase sozinho a Última Ceia de Leonardo. A seguir, foi a vez do arrastar de pés conspiratório de Antonio Politi, que, para grande irritação do próprio, tinha ficado incumbido dos painéis do teto e não do retábulo principal. Consequentemente, passava os dias deitado de costas como um Miguel ngelo dos tempos modernos, lançando olhares ferozes e rancorosos à plataforma tapada do restaurador, bem lá no alto, por cima do coro.
Não era a primeira vez que o restaurador e os outros membros da equipa trabalhavam juntos. Vários anos antes, tinham realizado restauros importantes na Igreja de San Giovanni Crisostomo, em Cannaregio, e, primeiro, na Igreja de San Zaccaria, em Castello. Na altura, pensavam que o restaurador era o brilhante mas ciosamente reservado Mario Delvecchio. Viriam a descobrir mais tarde, juntamente com o resto do mundo, que se tratava do lendário agente dos serviços secretos e assassino israelita chamado Gabriel Allon. Adrianna Zinetti e Lorenzo Vasari tinham sido capazes de perdoar Gabriel pelo logro, mas Antonio Politi, não. Quando era jovem, acusara uma vez Mario Delvecchio de ser um terrorista e achava que Gabriel Allon também o era. Em segredo, desconfiava que era por causa de Gabriel que passava os dias nos confins superiores da nave, deitado de costas e completamente torto, isolado de qualquer contacto humano, com solvente e tinta a pingarem-lhe na cara. Os painéis ilustravam a história da rainha Ester. Com certeza que, dizia Politi a quem quer que o quisesse ouvir, não era coincidência.
Na verdade, Gabriel não tivera nada que ver com essa decisão; tinha sido tomada por Francesco Tiepolo, proprietário da empresa de restauro mais destacada do Veneto e diretor do projeto de San Sebastiano. Uma figura que lembrava um urso, com uma intricada barba grisalha e preta, Tiepolo era um homem de paixões e apetites gigantescos, capaz de grande raiva e de ainda maior amor. Quando avançou até ao centro da nave, vinha vestido, como de costume, com uma camisa larga parecida com uma túnica e trazia um lenço de seda atado ao pescoço. Pela roupa, mais parecia estar a dirigir a construção da igreja e não a sua renovação.
Tiepolo parou por uns instantes para admirar Adrianna Zinetti, com quem tinha tido em tempos um caso que era um dos segredos mais mal guardados de Veneza. A seguir, trepou o andaime de Gabriel e avançou pela abertura na capa de lona. A plataforma de madeira pareceu ceder com o seu enorme peso.
— Cuidado, Francesco — avisou Gabriel, franzindo o sobrolho. — O chão do altar é de mármore e ainda é uma queda grande.
— Que queres dizer com isso?
— Quero dizer que talvez valesse a pena emagreceres alguns quilos. Estás a começar a desenvolver a tua própria força gravitacional.
— E de que me servia perder peso? Podia emagrecer vinte quilos que continuava a ser gordo.
O italiano avançou um passo e examinou o retábulo espreitando por cima do ombro de Gabriel.
— Muito bem — disse, fingindo admiração. — Se continuares a este ritmo, acabas a tempo do primeiro aniversário dos teus filhos.
— Posso fazê-lo rapidamente — respondeu Gabriel — ou posso fazê-lo bem.
— As duas coisas não se excluem mutuamente, sabes? Aqui em Itália, os nossos restauradores trabalham rapidamente. Mas tu, não — acrescentou Tiepolo. — Mesmo quando andavas a fingir que eras um de nós, sempre foste muito lento.
Gabriel preparou uma mecha nova, humedeceu-a com o solvente e girou-a sobre o tronco de São Sebastião, trespassado por flechas. Tiepolo observou-o com atenção durante um momento; a seguir, preparou ele próprio uma mecha e começou a passá-la pelo ombro do santo. O verniz amarelecido dissolveu-se de imediato, deixando ver a tinta imaculada de Veronese.
— A mistura do teu solvente é perfeita — disse Tiepolo.
— É sempre — respondeu Gabriel.
— O que usas?
— É segredo.
— Contigo tem de ser sempre tudo um segredo?
Ao ver que Gabriel não iria responder, Tiepolo olhou para os frascos com os produtos químicos.
— Quanto acetato metílico usaste?
— Precisamente a quantidade certa.
Tiepolo fez uma careta.
— Não te arranjei trabalho quando a tua mulher resolveu que queria passar a gravidez em Veneza?
— Arranjaste, Francesco.
— E não te pago muito mais do que pago aos outros — sussurrou —, apesar de andares sempre a desaparecer de cada vez que os teus amos precisam dos teus serviços?
— Sempre foste muito generoso.
— Então porque não me queres dizer qual é a fórmula do teu solvente?
— Porque o Veronese tinha a fórmula secreta dele e eu tenho a minha.
Tiepolo agitou a mão gigantesca, num gesto de desprezo. Depois deitou fora a mecha suja e preparou uma nova.
— A chefe de redação do New York Times em Roma ligou-me ontem à noite — disse, como quem não queria a coisa. — Está interessada em escrever um artigo sobre o restauro para a secção de arte de domingo. Quer vir cá sexta para dar uma vista de olhos.
— Se não te importares, Francesco, acho que vou tirar o dia na sexta.
— Logo vi que ias dizer isso — respondeu Tiepolo, olhando de soslaio para Gabriel. — Nem sequer te sentes tentado?
— A quê?
— A mostrar ao mundo o verdadeiro Gabriel Allon. O Gabriel Allon que cuida das obras dos grandes mestres. O Gabriel Allon que é capaz de pintar como um anjo.
— Só falo com jornalistas em último recurso. E nunca me ia passar pela cabeça falar com um sobre mim.
— Tens tido uma vida interessante.
— Isso é dizer pouco.
— Se calhar, está na altura de saíres de trás desse véu.
— E a seguir?
— Podes passar o resto dos teus dias aqui em Veneza connosco. No fundo, sempre foste veneziano, Gabriel.
— É tentador.
— Mas…?
Pela expressão que fez, Gabriel deixou bem claro que não pretendia falar mais do assunto. E depois, voltando-se para a tela, perguntou:
— Recebeste mais algum telefonema de que eu deva ter conhecimento?
— Só um — respondeu Tiepolo. — O general Ferrari dos Carabinieri vem cá à cidade mais ao fim da manhã. E queria dar-te uma palavrinha em privado.
Gabriel virou-se bruscamente e olhou para Tiepolo.
— Para falar de quê?
— Não disse. O general é bem melhor a fazer perguntas do que a responder a elas.
Tiepolo escrutinou Gabriel durante um momento.
— Não fazia ideia de que tu e o general eram amigos.
— E não somos.
— Então como o conheces?
— Pediu-me um favor uma vez e a minha única opção foi aceitar.
Tiepolo fez questão de mostrar que estava a ponderar o que tinha ouvido.
— Deve ter sido aquela questão há uns anos no Vaticano, aquela rapariga que caiu da cúpula da Basílica. Se bem me lembro, estavas a restaurar-lhes o Caravaggio na altura em que isso aconteceu.
— Ai estava?
— O rumor era esse.
— Não devias prestar atenção aos rumores, Francesco. Estão quase sempre errados.
— A não ser que tenham que ver contigo — respondeu Tiepolo, com um sorriso.
Gabriel deixou que o comentário ecoasse até ao coro sem resposta. A seguir, retomou o trabalho. Uns instantes antes, estava a servir-se da mão direita. Agora estava a servir-se da esquerda, com a mesma destreza.
— És como o Ticiano — disse Tiepolo, observando-o. — És um sol entre estrelas pequenas.
— Se não me deixares em paz, o sol nunca mais vai acabar este quadro.
Tiepolo não se mexeu.
— Tens a certeza de que não és ele? — perguntou passado um momento.
— Quem?
— O Mario Delvecchio.
— O Mario morreu, Francesco. O Mario nunca existiu.
O quartel regional dos Carabinieri, a polícia militar nacional italiana, ficava no sestiere de Castello, não muito longe do Campo San Zaccaria. O general Cesare Ferrari saiu do edifício à uma em ponto. Tinha abandonado o uniforme azul com as várias medalhas e insígnias e trazia antes um fato de executivo. Estava a agarrar com força uma pasta de aço inoxidável com uma mão. A outra, à qual faltavam dois dedos, tinha-a enfiada no bolso de um sobretudo de corte elegante. Tirou de lá a mão durante o tempo necessário para a estender a Gabriel. Fez um sorriso breve e formal. Como de costume, não teve influência no olho direito prostético. Até Gabriel tinha dificuldade em aguentar aquela mirada inerte e inflexível. Era como estar a ser examinado pelo olho que tudo vê de um Deus impiedoso.
— Está com bom aspeto — disse o general Ferrari. — Dá para ver que estar de volta a Veneza lhe faz bem.
— E como sabia o senhor que eu aqui estava?
O segundo sorriso do general durou pouco mais do que o primeiro.
— Há muito pouca coisa que se passa em Itália que eu não saiba, sobretudo no que diz respeito a si.
— E como é que o senhor sabia? — perguntou Gabriel outra vez.
— Quando pediu autorização aos nossos serviços secretos para regressar a Veneza, eles transmitiram essa informação para todos os ministérios e organismos policiais. E um desses sítios foi o palazzo.
O palazzo a que o general se estava a referir dava para a Piazza di Sant’Ignazio, no centro da Roma antiga. Acolhia a Divisão de Defesa do Património Cultural, mais conhecida como Brigada de Arte. O general Ferrari era o comandante. E tinha razão numa coisa, pensou Gabriel. Havia muito pouca coisa que se passasse em Itália de que o general não soubesse.
Filho de professores da região empobrecida da Campânia, Ferrari era considerado há muito um dos agentes policiais mais competentes e bem-sucedidos de Itália. Durante os anos setenta do século XX, uma época de mortíferos atentados terroristas em Itália, ajudou a neutralizar as Brigadas Vermelhas comunistas. A seguir, ao longo das guerras da Máfia nos anos oitenta, foi comandante da divisão de Nápoles, infestada pela Camorra. Era um cargo tão perigoso que a mulher e as três filhas de Ferrari foram forçadas a viver vinte e quatro horas sob proteção. O próprio Ferrari foi alvo de variadíssimos atentados, incluindo a bomba numa carta que lhe levou o olho e dois dedos.
A nomeação para a Brigada de Arte era supostamente uma recompensa por uma carreira longa e ilustre. Pensou-se que Ferrari se limitaria a seguir as pisadas do seu apagado antecessor, que iria andar a tratar de papelada, a fazer longos almoços em Roma e que, de vez em quando, encontraria um ou dois dos quadros dignos de museus que todos os anos eram roubados em Itália. Em vez disso, começou de imediato a modernizar uma unidade em tempos eficaz e que se tinha deixado atrofiar com a idade e a negligência. Poucos dias depois de chegar, despediu metade do pessoal e reabasteceu rapidamente as fileiras com agentes jovens e agressivos, que até sabiam alguma coisa de arte. As ordens que lhes deu foram simples. Não estava muito interessado nos mânfios de rua que roubavam de quando em vez arte; queria apanhar o peixe graúdo, os chefes que punham o material roubado no mercado. Não demorou muito até que a nova abordagem trouxesse dividendos. Mais de uma dúzia de ladrões importantes foi parar atrás das grades e, apesar de continuarem espantosamente elevadas, as estatísticas dos roubos de arte estavam a começar a melhorar.
— Então o que o traz a Veneza? — perguntou Gabriel enquanto ia levando o general pelo meio dos lagos temporários do Campo San Zaccaria.
— Tinha questões a tratar no Norte, mais propriamente no lago Como.
— Roubaram alguma coisa?
— Não — respondeu o general. — Assassinaram uma pessoa.
— E desde quando é que a Brigada de Arte se interessa por cadáveres?
— Desde que o falecido tem ligações ao mundo da arte.
Gabriel parou e virou-se para olhar de frente o general.
— Ainda não respondeu à minha pergunta — disse. — Porque veio a Veneza?
— Por causa de si, claro.
— E o que tem um cadáver em Como que ver comigo?
— A pessoa que o descobriu.
O general estava outra vez a sorrir, mas tinha o olho prostético a olhar fixa e inexpressivamente para o vazio. Era o olho de um homem que sabia tudo, pensou Gabriel. Um homem que não estava disposto a admitir recusas.
Entraram na igreja pela entrada principal à saída do campo e digiram-se para o famoso retábulo de San Zaccaria da autoria de Bellini. Um grupo de turistas estava parado diante dele enquanto um guia discursava empoladamente sobre o mais recente restauro do quadro, sem saber que o homem que o tinha realizado o estava a ouvir. Até o general Ferrari pareceu achar piada, embora passado um momento a sua mirada monocular começasse a vaguear. O Bellini era a obra mais importante de San Zaccaria, mas a igreja também possuía vários outros quadros de renome, incluindo obras de Tintoretto, Palma Vecchio e Van Dyke. Era apenas um exemplo do que levava os Carabinieri a ter uma unidade dedicada de detetives de arte. A Itália fora abençoada com duas coisas em abundância: arte e criminosos profissionais. Muita da arte, tal como a arte daquela igreja, estava mal protegida. E muitos dos criminosos estavam determinados em roubá-la toda.
Do outro lado da nave, ficava uma pequena capela, onde se encontrava a cripta do padroeiro e uma tela da autoria de um pintor veneziano de pouca monta que ninguém se dava ao trabalho de limpar há mais de um século. O general Ferrari sentou-se num dos bancos, abriu a pasta de metal e tirou de lá um dossiê. A seguir, tirou do dossiê uma fotografia de 20 centímetros por 25 centímetros, que passou a Gabriel. Mostrava um homem a entrar na terceira idade, suspenso de um candelabro pelos pulsos. Pela imagem, não se percebia ao certo qual tinha sido a causa da morte, mas era evidente que o homem fora selvaticamente torturado. A cara estava toda desfeita, inchada e ensanguentada, e tinham-lhe sido arrancados vários pedaços de pele e carne do tronco.
— Quem era ele? — perguntou Gabriel.
— Chamava-se James Bradshaw, mais conhecido como Jack. Era um súbdito britânico, mas passava a maior parte do tempo em Como, tal como vários milhares de compatriotas.
O general fez uma pausa, com ar pensativo.
— Parece que os britânicos já não gostam muito de viver no próprio país, não é?
— É.
— E porque será?
— Tem de lhes perguntar.
Gabriel olhou para a fotografia e estremeceu.
— Era casado?
— Não.
— Divorciado?
— Também não.
— Cara-metade?
— Parece que não.
Gabriel devolveu a fotografia ao general e perguntou-lhe o que fazia Jack Bradshaw na vida.
— Dizia que era consultor.
— De que tipo?
— Trabalhou durante muitos anos no Médio Oriente como diplomata. Depois reformou-se cedo e foi trabalhar por conta própria. Pelos vistos, aconselhava empresas britânicas que queriam entrar no mundo árabe. Devia ser bastante bom no que fazia — acrescentou o general — porque a villa dele era das mais caras naquela parte do lago. E também lá tinha uma coleção bastante impressionante de arte e antiguidades italianas.
— O que explica o interesse da Brigada de Arte na morte dele.
— Em parte — respondeu o general. — Afinal de contas, não é crime nenhum ter uma boa coleção.
— A não ser que essa coleção seja adquirida à revelia da lei italiana.
— Você está sempre um passo à frente de toda a gente, não é, Allon?
O general olhou para o quadro escurecido pendurado na parede da capela.
— Porque não o limparam no último restauro?
— Não havia dinheiro que chegasse.
— O verniz está praticamente opaco.
O general fez uma pausa e depois acrescentou:
— Tal e qual como o Jack Bradshaw.
— Que descanse em paz.
— Não é muito provável, depois de uma morte daquelas.
Ferrari olhou para Gabriel e perguntou:
— Já teve ocasião de estar perante o seu próprio fim?
— Infelizmente, já tive várias. Mas se não se importa, preferia falar dos hábitos de colecionador do Jack Bradshaw.
— O falecido senhor Bradshaw tinha a reputação de adquirir quadros que não estavam propriamente à venda.
— Quadros roubados?
— Essas palavras são suas, meu amigo. Não são minhas.
— Andavam a vigiá-lo?
— Digamos que a Brigada de Arte acompanhava as atividades dele o melhor que podia.
— Como?
— Das maneiras habituais — respondeu o general evasivamente.
— Imagino que os seus homens estejam a fazer um inventário completo e minucioso da coleção dele.
— Neste preciso momento.
— E?
— Até agora, não encontraram nada que estivesse na nossa base de dados de obras desaparecidas ou roubadas.
— Então imagino que o senhor vá ter de retirar todas as coisas desagradáveis que disse do Jack Bradshaw.
— Só porque não há provas, não quer dizer que não seja verdade.
— Falou como um verdadeiro polícia italiano.
Pela expressão do general Ferrari, era evidente que tinha interpretado o comentário de Gabriel como um elogio. Passado um momento, disse:
— Ouviam-se outras coisas sobre o falecido Jack Bradshaw.
— Que género de coisas?
— Que não era só um colecionador privado, que estava envolvido na exportação ilegal de quadros e outras obras de arte a partir de território italiano.
O general baixou a voz e acrescentou:
— O que explica por que razão o seu amigo Julian Isherwood está num sarilho bem grande.
— O Julian Isherwood não trabalha com arte contrabandeada.
O general não se deu ao trabalho de responder. Na opinião dele, os negociantes de arte eram todos culpados de alguma coisa.
— E onde é que ele está? — perguntou Gabriel.
— Detive-o.
— E acusaram-no de alguma coisa?
— Ainda não.
— De acordo com a lei italiana, não podem detê-lo por mais de quarenta e oito horas sem ser apresentado a um juiz.
— Encontraram-no ao pé de um cadáver. Hei de pensar em qualquer coisa.
— O senhor sabe que o Julian não teve nada que ver com a morte do Bradshaw.
— Não se preocupe — respondeu o general. — De momento, não faço tenções de recomendar que ele seja acusado. Mas se viesse a público que o seu amigo se ia encontrar com um contrabandista conhecido, a carreira dele acabava. Sabe, Allon, no mundo da arte, a perceção corresponde à realidade.
— E o que tenho eu de fazer para o nome do Julian não aparecer nos jornais?
O general não respondeu logo; estava a estudar a fotografia do cadáver de Jack Bradshaw.
— Porque acha que o torturaram antes de o matarem? — perguntou por fim.
— Se calhar, devia-lhes dinheiro.
— Se calhar — concordou o general. — Ou, se calhar, tinha qualquer coisa que os assassinos queriam, qualquer coisa mais valiosa.
— Ia dizer-me o que eu tenho de fazer para salvar o meu amigo.
— Descobrir quem matou o Jack Bradshaw. E descobrir do que andavam à procura.
— E se eu recusar?
— O mundo da arte londrino vai ser inundado de rumores desagradáveis.
— O senhor é um chantagista reles, general Ferrari.
— Chantagem é uma palavra feia.
— Pois é — respondeu Gabriel. — Mas, no mundo da arte, a perceção corresponde à realidade.
Gabriel conhecia um bom restaurante não muito longe da igreja, numa esquina sossegada de Castello onde os turistas raramente se aventuravam. O general Ferrari pediu grandes quantidades de comida; Gabriel passou o tempo a remexer no que tinha no prato e a bebericar um copo de água mineral com limão.
— Não tem fome? — perguntou o general.
— Estava com esperanças de passar mais umas horas com o meu Veronese hoje à tarde.
— Então é melhor comer qualquer coisa. Vai precisar de força.
— Não é assim que funciona.
— Não come quando está a fazer um restauro?
— Café e um bocado de pão.
— Que tipo de dieta é essa?
— Das que me deixam concentrar.
— Não admira que seja tão magro.
O general Ferrari dirigiu-se para o carrinho das entradas e voltou a encher o prato. Não havia mais ninguém no restaurante, só lá estavam o dono e a filha, uma morena bonita com doze ou treze anos. A criança era espantosamente parecida com a filha de Abu Jihad, o número dois da OLP, que Gabriel, num fim de tarde quente de primavera, em 1988, assassinara na villa deste em Tunes. O assassínio tinha sido levado a cabo no escritório de Abu Jihad, no primeiro andar, onde este estava a ver vídeos da intifada palestiniana. A rapariga assistira a tudo: dois tiros no peito que o imobilizaram, dois tiros fatais na cabeça, tudo ao som da música da revolta árabe. Gabriel já não se conseguia lembrar da máscara de morte de Abu Jihad, mas o retrato da rapariga, serena mas a fervilhar de raiva, ocupava um lugar de destaque nas salas de exposição da sua memória. Quando o general se sentou novamente, Gabriel tapou o rosto dela com uma camada de tinta obliterante. Inclinou-se sobre a mesa e perguntou:
— Porquê eu?
— E porque não?
— Quer que eu comece pelas razões óbvias?
— Se isso o fizer sentir melhor.
— Não sou da polícia italiana. Aliás, sou uma coisa bem diferente.
— Mas já tem um longo passado aqui em Itália.
— E nem todo é agradável.
— É verdade — concordou o general. — Mas, pelo caminho, foi fazendo contactos importantes. Tem amigos em lugares de destaque, como o Vaticano. E, talvez mais importante ainda, também tem amigos em lugares clandestinos. Conhece o país de uma ponta a outra e está casado com uma italiana. É praticamente um de nós.
— A minha mulher já não é italiana.
— E que língua falam em casa?
— Italiano — admitiu Gabriel.
— Mesmo quando estão em Israel?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Não é preciso dizer mais nada.
O general calou-se, com um ar pensativo.
— Isto é capaz de o surpreender — disse por fim —, mas quando um quadro desaparece ou fazem mal a alguém, costumo saber bastante bem quem é o responsável. Temos mais de cem informadores ao nosso serviço e já vigiámos mais telefones e endereços de e-mail do que a NSA. Quando acontece alguma coisa na parte criminosa do mundo da arte, há sempre conversa. Como vocês costumam dizer no ramo do contraterrorismo, os nós começam a piscar.
— E desta vez?
— O silêncio é ensurdecedor.
— E o que acha que isso quer dizer?
— Quer dizer que, com toda a probabilidade, os homens que mataram o Jack Bradshaw não são italianos.
— E tem alguma ideia de onde possam ser?
— Não — respondeu o general, abanando a cabeça lentamente —, mas o nível da violência preocupa-me. Já vi muitos cadáveres na minha carreira, mas este era diferente. As coisas que fizeram ao Jack Bradshaw foram… — A voz sumiu-se. Depois, lá concluiu: — Medievais.
— E agora quer que eu me meta com eles.
— Parece-me ser um homem que sabe cuidar de si.
Gabriel ignorou o comentário.
— A minha mulher está grávida. Não posso de maneira nenhuma deixá-la sozinha.
— Nós tomamos bem conta dela. — Baixou a voz e acrescentou: — Já estamos a fazê-lo.
— É bom saber que o governo italiano nos anda a espiar.
— Não estava à espera de outra coisa, pois não?
— Claro que não.
— Também me pareceu que não. Além disso, Allon, é para o seu bem. Tem imensos inimigos.
— E agora o senhor quer que eu faça mais um.
O general pousou o garfo e olhou pela janela contemplativamente, à maneira do doge Leonardo Loredan.
— É meio irónico — soltou passado um momento.
— O quê?
— Que um homem como você tenha decidido ir viver num gueto.
— Não vivo mesmo no gueto.
— É quase a mesma coisa — respondeu o general.
— É um bairro simpático, o mais simpático de Veneza, se quer saber a minha opinião.
— Está cheio de fantasmas.
Gabriel olhou de relance para a rapariga.
— Não acredito em fantasmas.
O general passou ao de leve com o guardanapo pelo canto da boca, com uma expressão de ceticismo.
— E como iria isto funcionar? — perguntou Gabriel.
— Considere-se um dos meus informadores.
— Ou seja?
— Penetre nas profundezas do mundo da arte e descubra quem matou o Jack Bradshaw. Eu trato do resto.
— E se eu não descobrir nada?
— Estou convicto de que vai descobrir.
— Isso soa-me a uma ameaça.
— Ai sim?
O general não disse mais nada. Gabriel soltou um suspiro profundo.
— Vou precisar de umas coisas.
— Como por exemplo?
— O habitual — respondeu Gabriel. — Registos telefónicos, cartões de crédito, e-mails, históricos de navegação na Internet e uma cópia do disco rígido dele.
O general indicou a pasta com a cabeça.
— Está ali tudo — disse —, mais todos os rumores desagradáveis que fomos ouvindo acerca dele.
— E também vou precisar de dar uma vista de olhos à villa e à coleção dele.
— Dou-lhe uma cópia do inventário quando o tivermos terminado.
— Não quero nenhum inventário. Quero ver os quadros.
— Feito — respondeu o general. — Mais alguma coisa?
— Suponho que alguém devia avisar o Francesco Tiepolo de que vou estar uns dias fora de Veneza.
— E avisar a sua mulher também.
— Sim — disse Gabriel, num tom distante.
— Talvez seja melhor dividirmos o mal pelas aldeias. Eu aviso o Francesco e você avisa a sua mulher.
— E não há por acaso nenhuma hipótese de podermos fazer isso ao contrário?
— Receio bem que não.
O general levantou a mão direita, aquela a que faltavam os dois dedos.
— Já sofri que chegue.
E só restava tratar de Julian Isherwood. Afinal, tinha sido detido no quartel regional dos Carabinieri, num espaço sem janelas que não era bem uma cela mas também não era uma sala de espera. A entrega aconteceu na Ponte della Paglia, a pouca distância da Ponte dos Suspiros. O general não parecia nada descontente por se ver livre do prisioneiro. Deixou-se ficar na ponte, com a mão estropiada enfiada no bolso do casaco e o olho prostético a observar sem pestanejar, enquanto Gabriel e Isherwood percorriam o Molo San Marco até entrarem no Harry’s Bar. Isherwood bebeu dois Bellinis de rajada, ao passo que Gabriel tratou discretamente dos preparativos para a viagem de Julian. Havia um voo da British Airways que saía de Veneza às seis da tarde e chegava a Heathrow pouco depois das sete.
— O que me dá tempo mais do que suficiente — disse Isherwood num tom sorumbático — para assassinar o Oliver Dimbleby e me enfiar na cama antes do News at Ten.
— Como teu representante informal neste assunto — respondeu Gabriel —, recomendo-te que não o faças.
— Achas que devia esperar até de manhã para matar o Oliver?
Gabriel sorriu contra vontade.
— O general aceitou generosamente manter o teu nome fora disto — disse. — Se fosse a ti, não dizia nada em Londres sobre o teu pequeno atrito com as autoridades italianas.
— Não foi suficientemente pequeno — respondeu Isherwood. — Não sou como tu, querido. Não estou habituado a passar as noites na cadeia. E podes crer que não estou habituado a dar com cadáveres. Meu Deus, devias tê-lo visto. Fizeram-no num autêntico filete.
— Mais uma razão para não dizeres nada quando chegares a casa — retorquiu Gabriel. — A última coisa que vais querer é que os assassinos do Jack Bradshaw leiam o teu nome nos jornais.
Isherwood mordeu o lábio e assentiu com a cabeça lentamente, em sinal de concordância.
— Pelos vistos, o general achava que o Bradshaw andava a traficar quadros roubados — disse passado um momento. — E, pelos vistos, também achava que eu andava a fazer negócios com ele. Apertou bem comigo.
— E andavas, Julian?
— A fazer negócios com o Jack Bradshaw?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Isso nem merece resposta.
— Tinha de perguntar.
— Já fiz muitas coisas impróprias na minha carreira, normalmente a teu mando. Mas nunca, e é mesmo nunca, vendi um quadro que soubesse que tinha sido roubado.
— Então e um quadro contrabandeado?
— Define contrabandeado — respondeu Isherwood, com um sorriso travesso.
— E o Oliver?
— Estás a perguntar se o Oliver Dimbleby anda a vender quadros roubados?
— Parece que sim.
Isherwood teve de pensar um pouco antes de responder.
— Para mim, não há muita coisa que eu ache que o Oliver Dimbleby não seja capaz de fazer — disse por fim. — Mas não, não acredito que ande metido com quadros roubados. Aquilo não passou de azar e de mau sentido de oportunidade.
Isherwood fez sinal ao empregado e pediu outro Bellini. Estava finalmente a começar a descontrair.
— Tenho de admitir — disse — que eras de longe a última pessoa do mundo que eu estava à espera de ver hoje.
— O sentimento é mútuo, Julian.
— Presumo que tu e o general se conheçam.
— Já trocámos cartões de visita.
— É uma das criaturas mais desagradáveis que já conheci.
— Não é assim tão mau quando o conhecemos melhor.
— E o que sabe ele da nossa relação?
— Sabe que somos amigos e que já restaurei vários quadros para ti. E se tivesse de dar um palpite — acrescentou Gabriel —, o mais provável é que saiba das tuas ligações à Avenida Rei Saul.
A Avenida Rei Saul era a morada dos serviços secretos de Israel. A agência tinha um nome comprido e deliberadamente enganador que tinha muito pouco que ver com a verdadeira natureza do seu trabalho. Quem lá trabalhava referia-se a ela simplesmente como o Departamento e nada mais. E Julian Isherwood também. Fazia parte dos sayanim, uma rede global de ajudantes voluntários. Eram os banqueiros quem fornecia dinheiro aos agentes do Departamento em casos de emergência; os médicos que tratavam deles em segredo quando estavam feridos; os hoteleiros que os hospedavam sob nomes falsos e os funcionários das agências de aluguer de automóveis que lhes providenciavam veículos impossíveis de localizar. Isherwood fora recrutado em meados da década de setenta, durante uma vaga de atentados terroristas palestinianos a alvos israelitas na Europa. Tinha apenas uma missão — ajudar na construção e manutenção do disfarce operacional de um jovem restaurador de arte e assassino chamado Gabriel Allon.
— Calculo que a minha libertação não tenha sido de borla — disse Isherwood.
— Pois não — respondeu Gabriel. — Aliás, até custou bastante.
— E quanto custou?
Gabriel contou-lhe.
— Lá se vai o teu período sabático em Veneza — disse Isherwood. — Parece que estraguei tudo.
— É o mínimo que posso fazer por ti, Julian. Devo-te imensa coisa.
Isherwood sorriu saudosamente.
— Há quanto tempo já nos conhecemos? — perguntou.
— Há uma centena de anos.
— E agora vais ser pai outra vez, e logo a dobrar. Nunca pensei estar cá para ver esse dia.
— Nem eu.
Isherwood olhou para Gabriel.
— Não pareces muito entusiasmado com a perspetiva de ir ter filhos.
— Não sejas ridículo.
— Mas…?
— Estou velho, Julian. — Gabriel parou por uns instantes e, a seguir, acrescentou: — Se calhar, demasiado velho para estar a começar outra família.
— A vida tratou-te bastante mal, meu rapaz. Tens direito a um bocadinho de felicidade na tua senilidade. Mas tenho de reconhecer que te invejo. Estás casado com uma rapariga linda que te vai dar dois filhos lindos. Quem me dera estar no teu lugar.
— Tem cuidado com o que desejas.
Isherwood bebeu o Bellini devagar, mas não disse nada.
— Ainda não é tarde demais, sabes?
— Para ter filhos? — perguntou, incrédulo.
— Para encontrares uma pessoa com quem passar o resto da vida.
— Lamento dizê-lo, mas acho que já passei o meu prazo de validade — respondeu Isherwood. — Neste momento, já me casei com a galeria.
— Vende a galeria — disse Gabriel. — Reforma-te e vai viver para uma villa no sul de França.
— Dava em maluco numa semana.
Saíram do bar e andaram uns passos até ao Grande Canal. Um vistoso táxi aquático de madeira reluzia encostado à doca apinhada. Isherwood parecia relutante em entrar nele.
— Se fosse a ti — disse-lhe Gabriel —, ia-me embora da cidade antes que o general mude de ideias.
— Um conselho sensato — respondeu Isherwood. — Posso dar-te um? — Gabriel ficou calado. — Diz ao general para arranjar outra pessoa.
— Lamento muito, mas já é demasiado tarde para isso.
— Então tem cuidado contigo. E não te armes em herói outra vez. Tens muito por que viver.
— Vais perder o avião, Julian.
Isherwood entrou a cambalear no táxi. Quando este se começou a afastar lentamente da doca, virou-se para Gabriel e gritou:
— O que digo ao Oliver?
— De alguma coisa te vais lembrar.
— Sim — retorquiu Isherwood. — Lembro-me sempre.
Enfiou-se na cabina e desapareceu.
Gabriel foi trabalhando no Veronese até as janelas da nave se escurecerem com o crepúsculo. Ligou do telefonino para Francesco Tiepolo e deu-lhe a notícia de que tinha de tratar de um assunto muito privado para o general Cesare Ferrari dos Carabinieri. Não entrou em pormenores.
— Quanto tempo vais estar fora? — perguntou Tiepolo.
— Um ou dois dias — respondeu Gabriel. — Se calhar, um mês.
— E o que digo aos outros?
— Diz-lhes que eu morri. Isso vai animar o Antonio.
Gabriel arrumou a plataforma de trabalho com mais cuidado do que o costume e saiu para o final de tarde frio. Seguiu o percurso habitual em direção a norte, passando por San Paolo e Cannaregio, até chegar a uma ponte de ferro, a única ponte de ferro em toda a cidade de Veneza. Na Idade Média, havia um portão no centro da ponte e, à noite, um guarda cristão ficava de vigia para que quem estava preso do outro lado não pudesse fugir. Naquele momento, a única coisa que a ponte tinha era uma gaivota que lançou um olhar feroz e malévolo a Gabriel quando este passou por ela devagar.
Entrou num sottoportego às escuras. No final da passagem, uma ampla praça abriu-se diante dele, o Campo di Ghetto Nuovo, o coração do gueto antigo de Veneza. Atravessou a praça e parou à porta do número 2899. Uma pequena placa de bronze indicava COMUNITÀ EBRAICA DI VENEZIA: Comunidade Judaica de Veneza. Tocou à campainha e depois, por instinto, desviou a cara da câmara de segurança.
— Em que o posso ajudar? — perguntou em italiano uma voz feminina familiar.
— Sou eu.
— Eu, quem?
— Abre a porta, Chiara.
Ouviu-se o besouro da porta e um ferrolho a abrir-se com um estalido. Gabriel entrou num corredor exíguo e percorreu-o até chegar a outra porta, que se abriu automaticamente quando ele se aproximou. Dava para um pequeno gabinete, onde Chiara estava sentada recatadamente atrás de uma secretária arrumada. Trazia uma camisola branca como a neve, leggings castanho-claros e botas de cabedal. O cabelo castanho-arruivado revolto caía-lhe pelos ombros, em cima de um lenço de seda que Gabriel tinha comprado na ilha da Córsega. Resistiu ao impulso de lhe beijar a boca grande. Não achava que fosse apropriado exprimir afeto físico pela rececionista do rabi principal de Veneza, mesmo que a rececionista por acaso também fosse a filha dedicada do rabi.
Chiara estava prestes a interpelá-lo quando foi interrompida pelo toque do telefone. Gabriel sentou-se na borda da secretária e ficou a ouvi-la a lidar com uma pequena crise que afetava uma comunidade de crentes cada vez mais diminuta. Assombrosamente, parecia a mesma rapariga que conhecera, dez anos antes, quando tinha ido falar com o rabi Jacob Zolli para lhe pedir informações sobre o destino dos judeus italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Na altura, Gabriel não sabia que Chiara era agente dos serviços secretos israelitas nem que recebera da Avenida Rei Saul a missão de o proteger durante o restauro do retábulo de San Zaccaria. Ficou a saber quem ela era na realidade pouco tempo depois, em Roma, a seguir a um incidente com tiros e a polícia italiana. Sozinho num apartamento seguro com Chiara, sem poder de lá sair, Gabriel quis desesperadamente tocar-lhe. Esperou até o caso ficar resolvido e terem regressado a Veneza. Foi lá que, numa casa no Canal de Cannaregio, fizeram amor pela primeira vez, numa cama preparada com lençóis lavados. Foi como fazer amor com uma figura pintada pela mão de Veronese.
No dia em que se conheceram, Chiara tinha-lhe oferecido café. Agora, ela já não bebia café, só água e sumos de fruta, que estava sempre a bebericar de uma garrafa de plástico. Era o único sinal visível de que, após uma longa luta com a infertilidade, estava finalmente grávida de gémeos. Tinha jurado não resistir ao inevitável aumento de peso com dietas e exercício, que considerava ser mais uma obsessão infligida ao mundo pelos americanos. Chiara era veneziana de alma e coração e os Venezianos não se punham a esbracejar em geringonças para o treino de cárdio nem a levantar objetos pesados para ganhar músculo. Comiam e bebiam bem, faziam amor e, quando precisavam de um bocadinho de exercício, passeavam pela areia do Lido ou iam até à Zaterre comer um gelado.
Desligou o telefone e fixou o olhar brincalhão nele. Os olhos dela eram cor de caramelo e salpicados de dourado, uma combinação que Gabriel nunca tinha sido capaz de reproduzir com exatidão num quadro. Naquele momento, brilhavam intensamente. Estava feliz, pensou ele, mais feliz do que já a tinha visto. De repente, não teve coragem de lhe dizer que o general Ferrari lhe aparecera inesperadamente e estragara tudo.
— Como te sentes? — perguntou.
Ela revirou os olhos e deu um gole na garrafa de água de plástico.
— Disse alguma coisa que não devia?
— Não tens de me estar sempre a perguntar como me sinto.
— Quero que saibas que estou preocupado contigo.
— Eu sei que estás preocupado, querido. Mas não tenho nenhuma doença terminal. Estou só grávida.
— E o que te devia perguntar?
— Devias perguntar-me o que quero para jantar.
— Estou esfomeado — disse ele.
— E eu estou sempre esfomeada.
— Queres ir comer fora?
— Por acaso, até me apetece cozinhar.
— E achas que consegues?
— Gabriel!
Ela começou a arrumar escusadamente os papéis que tinha em cima da secretária. Não era bom sinal. Chiara punha-se sempre a arrumar coisas quando se irritava.
— Como foi o trabalho? — perguntou.
— Um fartote de emoções.
— Não me digas que estás farto do Veronese?
— Andar a tirar verniz sujo não é a parte mais recompensadora de um restauro.
— Não houve surpresas?
— Com o restauro?
— Em geral — respondeu ela.
Era uma pergunta estranha.
— A Adrianna Zinetti veio trabalhar vestida como o Groucho Marx — retorquiu Gabriel —, mas de resto foi um dia normal na Igreja de San Sebastiano.
Chiara franziu o sobrolho. Abriu uma gaveta com a biqueira da bota e enfiou uns papéis distraidamente num dossiê de manilha. Não seria surpresa para Gabriel se esses papéis não tivessem nada que ver com os que já estavam no dossiê.
— Estás preocupada com alguma coisa? — perguntou.
— Não me vais perguntar outra vez como me sinto, pois não?
— Nunca me passaria pela cabeça.
Ela fechou a gaveta com mais força do que a necessária.
— Passei pela igreja à hora de almoço para te fazer uma surpresa — disse passado um momento —, mas não estavas lá. O Francesco disse que tinhas tido uma visita. Disse que não sabia quem era.
— E claro que percebeste que o Francesco estava a mentir.
— Não era preciso ser um agente dos serviços secretos experimentado para perceber isso.
— Continua — disse Gabriel.
— Liguei para o Centro de Operações para saber se andava por cá alguém da Avenida Rei Saul, mas no Centro de Operações disseram-me que não andava ninguém à tua procura.
— Sempre é uma novidade.
— Quem foi ter contigo hoje, Gabriel?
— Isto já começa a parecer um interrogatório.
— Quem foi? — perguntou ela de novo.
Gabriel levantou a mão direita e depois baixou dois dedos.
— O general Ferrari?
Gabriel assentiu com a cabeça. Chiara pôs-se a olhar fixamente para a secretária, como se estivesse à procura de qualquer coisa fora do lugar.
— Como te sentes? — perguntou Gabriel em voz baixa.
— Sinto-me ótima — respondeu ela, sem levantar os olhos. — Mas se me perguntares isso mais uma vez…
Era verdade que Gabriel e Chiara não viviam realmente no gueto antigo de Veneza. O apartamento que tinham arrendado ficava no primeiro andar de um velho palazzo deteriorado, numa esquina sossegada de Cannaregio onde os judeus nunca tinham sido proibidos de entrar. De um lado, havia uma praça tranquila; do outro, um canal onde a Avenida Rei Saul mantinha um pequeno e rápido barco, para o caso de Gabriel precisar de fugir de Veneza pela segunda vez na lendária carreira. Telavive tinha boas razões para não descurar a segurança dele; após muitos anos de resistência, Gabriel aceitara ser o próximo chefe do Departamento. Faltava um ano para iniciar o mandato. Daí em diante, todos os momentos da sua vida seriam dedicados à proteção do Estado de Israel daqueles que o queriam destruir. Acabar-se-iam os restauros ou as estadas prolongadas em Veneza com a linda e jovem mulher — pelo menos, sem um exército de guarda-costas a vigiá-los.
O apartamento tinha sido equipado com um sistema de segurança sofisticado, que chilreou de forma amena quando Gabriel abriu a porta. Depois de entrar, tirou a rolha de uma garrafa de Bardolino e sentou-se ao balcão da cozinha, a ouvir o noticiário da BBC, enquanto Chiara preparava uma travessa de bruschetta. Um painel da ONU previra um aquecimento global apocalíptico, uma bomba explodira num carro e matara quarenta pessoas num bairro xiita de Bagdade, e o presidente sírio, o carniceiro de Damasco, utilizara uma vez mais armas químicas contra o próprio povo. Chiara fez uma careta e desligou o rádio. A seguir, olhou desejosamente para a garrafa de vinho aberta. Gabriel tinha pena dela. Chiara sempre gostara de beber Bardolino na primavera.
— Não lhes vai fazer mal se deres só um gole — disse.
— A minha mãe nunca tocou em vinho quando estava grávida de mim.
— E vê lá como saíste.
— Perfeita em todos os aspetos.
Sorriu e pousou a bruschetta defronte de Gabriel. Este escolheu duas fatias — uma com azeitonas cortadas e a outra com feijão branco e alecrim — e serviu-se do Bardolino. Chiara descascou uma cebola e, com uns quantos golpes rápidos com a faca, transformou-a num monte de cubos brancos perfeitos.
— É melhor teres cuidado — disse Gabriel, observando-a — ou ainda ficas como o general.
— Não me dês ideias.
— O que querias que eu lhe dissesse, Chiara?
— Podias ter-lhe dito a verdade.
— Que versão da verdade?
— Falta-te um ano para fazeres o teu juramento, querido. Depois disso, vais estar a mando do primeiro-ministro e a segurança do Estado vai passar a ser tua responsabilidade. A tua vida vai ser uma reunião interminável, intervalada com uma ou outra crise.
— E é por isso que recusei o cargo várias vezes antes de acabar por aceitá-lo.
— Mas agora é teu. E isto é a tua última oportunidade de descansar como bem mereces antes de voltarmos para Israel.
— Tentei explicar isso ao general sem entrar nos pormenores sórdidos todos. Foi nessa altura que ele ameaçou deixar o Julian a apodrecer numa cela italiana.
— Ele não tinha nada para usar contra o Julian. Estava a fazer bluff.
— Talvez — reconheceu Gabriel. — Mas e se um jornalista britânico empreendedor qualquer resolvesse vasculhar um bocadinho o passado do Julian? E se esse mesmo jornalista empreendedor acabasse por descobrir que ele era um ativo do Departamento? Eu nunca me ia perdoar se tivesse deixado que ele fosse arrastado pela lama. Esteve sempre presente quando precisei dele.
— Lembras-te daquela vez em que lhe pediste para tomar conta do gato daquele desertor russo?
— Como me podia esquecer? Não fazia ideia que o Julian fosse alérgico aos gatos. Passou um mês a coçar-se.
Chiara sorriu. Pôs a cebola numa caçarola de metal pesada, com azeite e manteiga, cortou uma cenoura rapidamente e juntou-a também.
— O que estás a fazer?
— É um prato de carne aqui da zona chamado calandraca.
— E onde aprendeste a fazer isso?
Chiara levantou os olhos para o teto, como que a querer dizer que tal conhecimento se encontrava no ar e na água de Itália. Não estava longe da verdade.
— E o que posso fazer para ajudar? — perguntou Gabriel.
— Podes parar de estar sempre em cima de mim.
Gabriel levou a travessa de bruschetta e o vinho para a pequena sala de estar. Antes de se sentar no sofá, tirou a pistola do cós das calças e pousou-a com cuidado na mesinha de apoio, em cima de uma pilha de revistas lustrosas que falavam de gravidezes e partos. A pistola era uma Beretta de 9 milímetros e tinha o punho de madeira de nogueira manchado de tinta: um salpico de Ticiano, um bocadinho de Bellini, uma gota de Raphael e de Tintoretto. Não tardaria muito para deixar de andar armado; andariam outros com armas em nome dele. Interrogou-se qual seria a sensação de andar pelo mundo desarmado. Seria uma coisa parecida, achou, com sair de casa sem vestir umas calças. Havia homens que usavam gravata quando iam para o emprego. Gabriel Allon andava com uma pistola.
— Continuo sem perceber por que razão o general precisa que sejas tu a descobrir quem matou o Jack Bradshaw — gritou Chiara da cozinha.
— Pelos vistos, acha que eles andavam à procura de alguma coisa — respondeu Gabriel, folheando uma das revistas. — E gostava que eu a descobrisse primeiro.
— À procura de quê?
— Não entrou em pormenores, mas desconfio que saiba mais do que diz saber.
— Costuma ser o caso.
Chiara pôs cubos de vitela passados por farinha na caçarola e, em pouco tempo, o apartamento encheu-se com o odor da carne a tostar. A seguir, juntou um bocado de molho de tomate, vinho branco e especiarias, que mediu com a palma da mão. Gabriel ficou a ver as luzes de presença de um barco que se deslocava lentamente pelas águas negras do canal. A seguir, com cautela, disse a Chiara que estava a pensar partir para o lago Como logo de manhãzinha.
— E quando voltas? — perguntou ela.
— Depende.
— De quê?
— Do que encontrar na villa do Jack Bradshaw.
Chiara estava a cortar batatas numa tábua de madeira. Por causa disso, a afirmação de que pretendia acompanhar Gabriel mal se ouviu com o barulho da faca. Gabriel desviou os olhos da janela e fitou-a com uma expressão de reprovação.
— O que se passa? — perguntou ela passado um momento.
— Não vais a lado nenhum — respondeu ele sem levantar a voz.
— É o lago Como. O que pode acontecer?
— Queres que te dê alguns exemplos?
Chiara ficou calada. Gabriel voltou-se e pôs-se a ver outra vez o barco a subir o canal, mas tinha os pensamentos repletos de imagens de uma carreira longa e turbulenta. Era uma carreira que, estranhamente, se desenrolara em alguns dos locais mais glamorosos da Europa. Tinha matado em Cannes e Saint-Tropez e lutado pela vida nas ruas de Roma e nas montanhas da Suíça. E em tempos, muitos anos antes, perdera a mulher e o filho devido a uma bomba que fez explodir um carro numa rua pitoresca do elegante Primeiro Distrito de Viena. Não, pensou naquele momento, Chiara não o iria acompanhar até ao lago Como. Deixá-la-ia ali em Veneza, ao cuidado da família e sob a proteção da polícia italiana. E que Deus acudisse o general se este permitisse que lhe acontecesse alguma coisa.
Ela estava a cantar baixinho, uma daquelas tontas canções pop italianas que tanto adorava. Juntou as batatas cortadas à caçarola, baixou o lume e depois foi ter com Gabriel à sala de estar. O dossiê do general Ferrari sobre Jack Bradshaw estava em cima da mesinha de apoio, ao lado da Beretta. Esticou-se para pegar nele, mas Gabriel impediu-a; não queria que ela visse como os assassinos de Jack Bradshaw lhe tinham estropiado o corpo. Chiara pousou a cabeça no ombro dele. O cabelo dela cheirava a baunilha.
— Quanto tempo achas que a calandraca vai demorar? — perguntou Gabriel.
— Mais ou menos uma hora.
— Não consigo esperar tanto.
— Come outra bruschetta.
Foi o que fez. E Chiara também. A seguir, levou o copo de Bardolino ao nariz, mas não bebeu nada.
— Não lhes vai fazer mal se deres só um golezinho pequeno.
Chiara voltou a pousar o copo de vinho na mesa e pousou a mão sobre o ventre. Gabriel pôs a mão ao lado da dela e, por um instante, achou que conseguia detetar o leve palpitar, digno de um colibri, dos corações de dois fetos. São meus, pensou, abraçando-os com força. E que Deus acuda quem lhes tentar alguma vez fazer mal.
Na manhã seguinte, os habitantes do Reino Unido acordaram com a notícia de que um compatriota, o empresário expatriado James «Jack» Bradshaw tinha sido encontrado, brutalmente assassinado, na sua villa com vista para o lago Como. As autoridades italianas falaram em roubo como possível motivo, apesar de não haver provas de que alguma coisa tivesse sido sequer levada. O nome do general Ferrari não apareceu nas reportagens; e também ninguém referiu que Julian Isherwood, o famoso negociante de arte londrino, tinha descoberto o cadáver. Os jornais esforçaram-se todos ao máximo para encontrar alguém que tivesse qualquer coisa simpática para dizer de Bradshaw. O Times conseguiu desencantar um antigo colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o descreveu como «um ótimo funcionário», mas, tirando isso, a vida de Bradshaw não parecia ser merecedora de elogios. A fotografia que apareceu na BBC dava ideia de ter no mínimo vinte anos. Mostrava um homem que não gostava que lhe tirassem fotos.
Havia outro facto crucial que não foi referido na cobertura noticiosa do homicídio de Jack Bradshaw: Gabriel Allon, o filho lendário mas desavindo dos serviços secretos israelitas, tinha sido contratado discretamente pela Brigada de Arte para investigar o assunto. E essa investigação teve início às sete e meia, altura em que introduziu uma pen de alta capacidade no notebook. A pen tinha-lhe sido dada pelo general Ferrari e continha o que se encontrava no computador pessoal de Jack Bradshaw. A maior parte dos documentos tinha que ver com a empresa dele, a Meridian Global Consulting Group — um nome curioso, pensou Gabriel, já que a Meridian não aparentava ter mais funcionários. A pen tinha mais de vinte mil documentos. Além disso, havia milhares de números de telefone e de endereços de correio eletrónico que precisavam de ser verificados e cruzados. Era demasiado material para Gabriel examinar sozinho. Precisava de um ajudante, um investigador talentoso que soubesse alguma coisa de questões criminais e, de preferência, de arte italiana.
— Eu? — perguntou Chiara, incrédula.
— Tens alguma ideia melhor?
— Queres mesmo que te responda a isso?
Gabriel não disse nada. Percebeu que havia qualquer coisa naquela ideia que agradava a Chiara. Era dada por natureza a resolver quebra-cabeças e problemas.
— Era mais fácil se eu pudesse pedir para verificarem os números de telefone e os e-mails nos computadores da Avenida Rei Saul — disse ela depois de pensar um momento.
— Evidentemente — retorquiu Gabriel. — Mas a última coisa que eu quero é dizer ao Departamento que estou a investigar um caso para os italianos.
— Vão acabar por descobrir. Descobrem sempre.
Gabriel copiou os ficheiros de Bradshaw para o disco rígido do notebook e ficou com a pen. A seguir, pôs numa maleta de fim de semana duas mudas de roupa e outras tantas identidades enquanto Chiara tomava um duche e se vestia para ir trabalhar. Acompanhou-a até ao gueto e, à porta do centro comunitário, pôs-lhe a mão no abdómen uma última vez. Quando se foi embora, não pôde deixar de reparar no jovem e belo italiano que estava a beber café no café kosher. Telefonou para o palazzo, em Roma, para falar com o general Ferrari. O general confirmou que o jovem italiano era um agente dos Carabinieri especialista em proteção pessoal.
— E não podia ter arranjado uma pessoa para tomar conta da minha mulher que não parecesse uma estrela de cinema?
— Não me diga que o grande Gabriel Allon está com ciúmes.
— Certifique-se só que não lhe acontece nada. Está a ouvir?
— Só tenho um olho — respondeu o general —, mas ainda tenho os dois ouvidos e funcionam bastante bem.
Tal como muitos venezianos, temporários ou não, Gabriel tinha um carro, um Volkswagen grande, guardado numa garagem perto da Piazzale Roma. Atravessou a passagem pelo meio da água até terra e dirigiu-se para a autostrada. Quando o trânsito começou a diminuir, carregou no acelerador e ficou a ver o ponteiro do velocímetro a aproximar-se dos cem. Durante várias semanas, tinha andado a passear-se e a viver a vida a passo de caracol. De repente, o roncar de um motor de combustão interna passou a ser um prazer secreto. Levou o carro até ao limite e viu as planícies do Veneto a passarem-lhe a correr pela janela, num borrão verde e castanho-claro que o satisfez.
Avançou para oeste a toda a velocidade, passando por Pádua, Verona e Bérgamo, e chegou aos arrabaldes de Milão trinta minutos mais cedo do que tinha previsto. De lá, seguiu para norte para Como; e depois percorreu a margem sinuosa do lago até atingir o portão da villa de Jack Bradshaw. Viu através das grades um carro dos Carabinieri sem matrícula estacionado no pátio de entrada. Ligou para Roma para falar com o general, disse-lhe onde estava e a seguir interrompeu rapidamente a ligação. Passados trinta segundos, o portão abriu-se.
Gabriel meteu a primeira e avançou lentamente pelo caminho de entrada íngreme, em direção à casa de um homem que tivera uma vida resumida numa única frase vazia. Um ótimo funcionário… Só tinha a certeza de uma coisa: Jack Bradshaw, diplomata reformado, consultor de empresas em atividade no Médio Oriente e colecionador de arte italiana, tinha feito da mentira a sua profissão. E sabia isso porque também ele era um mentiroso. Por isso, ao sair do carro, sentiu uma certa afinidade com o homem cuja vida estava prestes a pilhar. Não vinha como inimigo mas como amigo, o implemento perfeito para um trabalho desagradável. Depois da morte não há segredos, pensou, atravessando o pátio. E se houvesse algum segredo escondido naquela linda villa junto ao lago, iria descobri-lo.
Um carabiniere à paisana estava à espera à entrada. Disse que se chamava Lucca — sem apelido nem posto, apenas Lucca — e limitou-se a passar a Gabriel umas luvas de borracha e umas proteções de plástico para os sapatos. Gabriel pô-las de bom grado. Naquela altura da vida, a última coisa que queria era deixar o ADN em mais uma cena do crime em Itália.
— Tem uma hora — disse-lhe o carabiniere. — E eu vou consigo.
— Demoro o tempo que for preciso — retorquiu Gabriel. — E você vai ficar aí bem quietinho.
Vendo que o polícia não lhe ia responder, Gabriel calçou as luvas e enfiou as proteções para os sapatos antes de entrar na villa. A primeira coisa em que reparou foi no sangue. Era difícil não o fazer; todo o chão de pedra da entrada estava cheio dele e completamente preto. Interrogou-se por que razão o assassínio teria acontecido ali e não numa zona mais isolada da casa. Era possível que Bradshaw tivesse confrontado os assassinos depois de lhe terem arrombado a residência, mas não havia sinais de terem forçado a entrada, nem na porta nem no portão. A explicação mais lógica era que Bradshaw deixara entrar os agressores. Conhecia-os, pensou Gabriel. E, de forma imprudente, tinha confiado suficientemente neles para os receber em casa.
Da entrada, Gabriel passou para o salão. Estava mobilado de forma elegante, com sofás e cadeiras forrados a seda, e adornado com mesas e candeeiros caros e todo o género de pequenos objetos valiosos. Uma das paredes encontrava-se exclusivamente ocupada por janelas grandes com vista para o lago; nas outras, estavam expostos quadros da autoria de Velhos Mestres italianos. A maior parte correspondia a obras de devoção pouco importantes ou retratos produzidos em série por tarefeiros ou seguidores de pintores famosos de Veneza e Florença. No entanto, havia um capriccio arquitetónico romano que era claramente da autoria de Giovanni Paolo Panini. Gabriel lambeu a ponta do dedo enluvado e arrastou-a sobre a superfície. Tal como os outros quadros expostos no salão, o Panini estava a precisar urgentemente de um bom restauro.
Gabriel limpou a sujidade que cobria a superfície na perna das calças de ganga e dirigiu-se para uma escrivaninha antiga. Nela, estavam duas fotografias de Jack Bradshaw em tempos mais felizes. Na primeira, encontrava-se diante da Grande Pirâmide de Gizé, com uma pueril madeixa de cabelo a cair-lhe sobre a cara, repleta de esperança e futuro. A segunda tinha como pano de fundo a cidade antiga de Petra, na Jordânia. Tinha sido tirada, imaginou Gabriel, na altura em que Bradshaw trabalhava na embaixada britânica em Amã. Tinha um ar mais velho, mais duro, talvez mais sábio. O Médio Oriente era assim. Transformava a esperança em desespero e os idealistas em maquiavélicos.
Gabriel abriu a gaveta da escrivaninha e, não encontrando lá dentro nada que lhe interessasse, passou em revista o registo de chamadas não atendidas do telefone. Havia um número, 6215845, que aparecia várias vezes — cinco vezes antes de Bradshaw morrer e duas depois. Gabriel levantou o auscultador, carregou na tecla de marcação automática e, passados uns segundos, ouviu o toque longínquo de um telefone. Depois de vários toques, seguiu-se uma série de cliques e chocalhos a indicar que a pessoa do outro lado da linha tinha atendido a chamada e desligara rapidamente. Gabriel voltou a marcar o número e o resultado foi o mesmo. Mas quando experimentou ligar uma terceira vez, surgiu na linha uma voz masculina que disse em italiano:
— Está a falar com o padre Marco. Em que posso ajudá-lo?
Gabriel pousou o auscultador delicadamente sem dizer nada. Ao lado do telefone, estava um bloco de apontamentos. Arrancou a primeira página, anotou o número de telefone na página seguinte e enfiou as duas no bolso do casaco. Depois, subiu as escadas.
Havia quadros a revestir ambos os lados de um amplo corredor central e a cobrir as paredes de dois quartos, tirando isso, vazios. Bradshaw utilizava um terceiro quarto como arrecadação. Várias dezenas de quadros, alguns emoldurados e outros nos respetivos suportes, encontravam-se encostados às paredes como cadeiras desdobráveis no final de uma receção com catering. Os quadros eram quase todos de origem italiana, mas também havia várias obras de artistas alemães, flamengos e holandeses. Uma delas, um quadro de género com lavadeiras a trabalhar num pátio, provavelmente da autoria de um imitador de Willem Kalf, parecia ter sido restaurado não há muito tempo. Gabriel perguntou a si mesmo o que teria levado Bradshaw a resolver restaurar o quadro enquanto outros da coleção, alguns mais valiosos, definhavam sob camadas de verniz amarelecido — e por que razão, ao tê-lo feito, o deixara encostado a uma parede de uma arrecadação.
Do outro lado do átrio central, ficavam o quarto e o escritório de Bradshaw. Gabriel inspecionou-os rapidamente, com a meticulosidade de um homem que sabia esconder coisas. No quarto, oculto por baixo de uma pilha gatsbyesca de camisas coloridas, descobriu um envelope de manilha amarrotado e recheado com vários milhares de euros que, por uma razão ou outra, tinha escapado à atenção dos homens do general Ferrari. No escritório, encontrou dossiês a abarrotar de documentos comerciais, bem como uma impressionante coleção de monografias e catálogos. E também descobriu documentação que dava a entender que a Meridian Global Consulting tinha alugado uma caixa-forte no Freeport de Genebra. Interrogou-se se esses documentos também teriam escapado à atenção dos homens do general.
Gabriel enfiou a documentação relativa ao Freeport no bolso do casaco e atravessou o corredor para voltar a entrar no quarto que Bradshaw utilizava como arrecadação. As três lavadeiras holandesas continuavam a labutar no pátio de pedras arredondadas, sem consciência de que ele ali estava. Pôs-se de cócoras diante da tela e examinou as pinceladas com atenção. Era evidente que tinha sido um imitador a pintar o quadro, pois faltava-lhe qualquer vestígio de confiança ou espontaneidade. De facto, na opinião experiente de Gabriel, possuía uma qualidade mecânica, como se o artista não tivesse tirado os olhos do original enquanto ia trabalhando. E, se calhar, não tinha tirado mesmo.
Gabriel desceu as escadas e, perante o olhar vigilante do carabiniere, tirou uma lanterna ultravioleta da maleta de fim de semana. Se a apontassem para a tela de um Velho Mestre num quarto às escuras, a lanterna revelaria a amplitude do último restauro fazendo os retoques surgir como manchas pretas. Normalmente, um quadro de um Velho Mestre holandês daquele período teria sofrido danos menores ou moderados, o que queria dizer que os retoques — ou reconstrução, como eram conhecidos no ramo — surgiriam como salpicos pretos.
Gabriel regressou ao quarto no primeiro andar da villa, fechou a porta e correu as persianas por completo. Acendeu a lanterna ultravioleta e apontou-a para o quadro. As três lavadeiras holandesas deixaram de se ver. A tela inteira ficou preta como carvão.
Numa empresa de produtos químicos que ficava num bairro industrial de Como, Gabriel comprou acetona, álcool, água destilada, uns óculos, uma proveta e uma máscara protetora. Depois, parou numa loja de material de artes e ofícios, no centro da cidade, onde comprou cavilhas de madeira e um pacote de algodão hidrófilo. Ao voltar para a villa junto ao lago, deparou com o carabiniere à espera, à entrada, com luvas e proteções para os sapatos novas. Desta vez, o italiano não abriu o bico sobre nenhum limite de uma hora. Percebeu que Gabriel se iria demorar.
— Não vai contaminar nada, pois não?
— Só os pulmões — respondeu Gabriel.
Lá em cima, tirou a tela da moldura, pousou-a em cima de uma cadeira sem braços e iluminou-lhe a superfície com o máximo de luz possível. Depois misturou, na mesma medida, acetona, álcool e água destilada na proveta e preparou uma mecha com uma cavilha e um bocado de algodão. Trabalhando depressa, retirou o verniz e a reconstrução mais recentes de um pequeno retângulo — com cerca de cinco centímetros por dois centímetros e meio — no canto inferior esquerdo da tela. Os restauradores chamavam a essa técnica «abrir uma janela». Habitualmente, fazia-se isso para testar a força e a eficácia da mistura de um solvente. Mas, naquele caso, Gabriel estava a abrir uma janela para remover as camadas à superfície do quadro e poder ver o que se encontrava por baixo. O que descobriu foram as pregas opulentas de uma peça de roupa carmesim. Era óbvio que havia um quadro intacto por baixo das três lavadeiras holandesas no pátio — um quadro que, na opinião de Gabriel, tinha sido produzido por um verdadeiro Velho Mestre de considerável talento.
Abriu rapidamente mais três janelas, uma na parte inferior direita da tela e outras duas no topo. Na parte inferior direita, encontrou mais tecido, mais escuro e menos nítido; mas, no topo, no lado direito, a tela era praticamente preta. No lado esquerdo, encontrou um arco romano amarelo-torrado que parecia fazer parte de um fundo arquitetónico. As quatro janelas abertas permitiram-lhe ter uma noção geral do modo como as figuras se encontravam dispostas na tela. E, mais importante, diziam-lhe que, com toda a probabilidade, o quadro era da autoria de um italiano e não de um artista das escolas holandesa ou flamenga.
Gabriel abriu uma quinta janela uns quantos centímetros abaixo do arco romano e descobriu a cabeça de um homem a ficar careca. Expandindo-a, encontrou a cana do nariz e um olho que fitava diretamente quem o estava a observar. Abriu uma janela alguns centímetros mais à direita e descobriu a testa pálida e luminosa de uma jovem. Também expandiu essa janela e deu com dois olhos a olhar para baixo. Um nariz comprido surgiu depois, seguido de uns lábios vermelhos pequenos e de um queixo delicado. Foi então que, passado mais um minuto de trabalho, Gabriel viu a mão estendida de uma criança. Um homem, uma mulher, uma criança… Gabriel analisou a mão da criança — em específico, a maneira como o polegar e o indicador tocavam no queixo da mulher. A pose era-lhe familiar. E as pinceladas também.
Atravessou o vestíbulo, entrou no escritório de Jack Bradshaw, ligou o computador e foi consultar o sítio eletrónico do Registo de Perdas de Arte, a maior base de dados privada do mundo em matéria de obras de arte roubadas, desaparecidas e saqueadas. Após carregar em algumas teclas, surgiu no ecrã a fotografia de um quadro — o mesmo quadro que naquele preciso momento se encontrava em cima de uma cadeira, no quarto em frente. Por baixo da foto aparecia uma curta descrição:
A Sagrada Família, óleo sobre tela, Parmigianino (1503-1540), roubado de um laboratório de restauro no histórico hospital romano Santo Spirito, em 31 de julho de 2004.
Há mais de uma década que a Brigada de Arte procurava esse quadro desaparecido. E agora Gabriel encontrara-o, na villa de um inglês morto, escondido por baixo de uma cópia de um quadro holandês de Willem Kalf. Começou a marcar o número do general Ferrari, mas deteve-se. Onde havia um, pensou, com certeza haveria outros. Levantou-se da secretária do morto e pôs-se à procura.
Descobriu na arrecadação mais dois quadros que, ao serem sujeitos à luz ultravioleta, se revelaram completamente pretos. Um era uma cena costeira da Escola Holandesa reminiscente da obra de Simon de Vlieger; o outro era um vaso de flores que aparentava ser uma cópia da autoria do artista vienense Johann Baptist Drechsler. Gabriel começou a abrir janelas.
Molhar, girar, deitar fora…
Uma árvore inchada com um céu pintalgado de nuvens em fundo, as pregas de uma saia a espraiar-se num prado, o flanco nu de uma mulher corpulenta…
Molhar, girar, deitar fora…
Um pedaço de verde-azulado a servir de pano de fundo, uma blusa com motivos florais, um olho grande e ensonado por cima de uma bochecha rosada…
Gabriel reconheceu os dois quadros. Sentou-se ao computador e regressou ao sítio eletrónico do Registo de Perdas de Arte. Após carregar em mais umas teclas, surgiu no ecrã a fotografia de um quadro:
Raparigas no Campo, óleo sobre tela, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), 41,6 centímetros × 50,8 centímetros, desaparecido desde 13 de março de 1981, do Musée de Bagnols-sur-Cèze, em Gard, França. Valor atual estimado: desconhecido.
Mais umas teclas premidas, outro quadro, outra história de um objeto perdido:
Retrato de Uma Mulher, óleo sobre tela, Gustav Klimt (1862-1918), 82,8 centímetrtos × 54,8 centímetros, desaparecido desde 18 de fevereiro de 1997, da Galleria Ricci Oddi, em Piacenza, Itália. Valor atual estimado: 4 milhões de dólares.
Gabriel pôs o Renoir e o Klimt ao lado do Parmigianino, fotografou-os com o telemóvel e enviou a imagem rapidamente para o palazzo. O general Ferrari telefonou-lhe passados trinta segundos. Vinha ajuda a caminho.
Gabriel levou os três quadros para o rés do chão e pousou-os em cima de um dos sofás do salão. Parmigianino, Renoir, Klimt… Três quadros desaparecidos de três preeminentes artistas, todos escondidos por baixo de cópias de obras menores. Mesmo assim, as cópias eram de uma qualidade extremamente elevada. Tinham sido feitas por um mestre falsificador, pensou Gabriel. Talvez até por um restaurador. Mas porquê dar-se ao trabalho de encomendar uma cópia para esconder uma obra roubada? Era evidente que Jack Bradshaw estava ligado a uma rede sofisticada que trabalhava com arte roubada e contrabandeada. Onde havia três, pensou Gabriel, olhando para os quadros, teria de haver mais. Muitos mais.
Pegou numa das fotografias do jovem Jack Bradshaw. O currículo dele parecia uma coisa saída de um tempo perdido. Formado em Eton e Oxford, fluente em árabe e persa, tinha sido posto no mundo para cumprir as ordens de um império outrora poderoso e que entrara num declínio terminal. Talvez tivesse sido um diplomata vulgar, um funcionário que emitia vistos, que carimbava passaportes, que escrevia cabogramas ponderados que ninguém se dava ao trabalho de ler. Ou talvez tivesse sido uma coisa completamente diferente. Gabriel conhecia um homem em Londres que era capaz de dar corpo ao currículo dubiamente escasso. Mas a verdade não chegaria sem preço. No ramo da espionagem, a verdade raramente o fazia.
Gabriel pousou a fotografia e serviu-se do telemóvel para reservar um lugar no voo da manhã seguinte para Heathrow. Depois pegou na folha onde tinha escrito o número tirado do registo de chamadas do telefone de Bradshaw.
6215845…
Está a falar com o Padre Marco. Em que posso ajudá-lo ?
Marcou o número novamente, mas desta vez tocou sem que ninguém atendesse. A seguir, com relutância, comunicou-o por via segura ao Centro de Operações da Avenida Rei Saul e pediu que fizessem uma verificação de rotina. A resposta chegou passados dez minutos: 6215845 era um número que não vinha na lista telefónica e que correspondia ao presbitério da Igreja de San Giovanni Evangelista, em Brienno, que ficava a poucos quilómetros de distância, continuando a subir pelo lago.
Gabriel pegou na primeira folha que tinha encontrado no bloco de apontamentos de Jack Bradshaw na noite em que este fora assassinado. Inclinando-a para o candeeiro, estudou as marcas que tinham sido deixadas pela caneta de tinta permanente de Bradshaw. Tirou um lápis da gaveta de cima da secretária e passou a ponta suavemente sobre a superfície até emergir um padrão de linhas. Era quase tudo uma salgalhada impenetrável: o número 4, o número 8, as letras C, V e O. Mas, no fundo da página, havia uma única palavra claramente visível.
Samir…
A estrada chamava-se Paradise, mas era um paraíso perdido: blocos em ruínas de habitações sociais em tijoleira vermelha, um pedaço de relva pisada, um parque infantil sem crianças onde um carrossel girava lentamente ao sabor do vento. Gabriel deixou-se ficar ali apenas o tempo suficiente para ter a certeza de que ninguém o seguia. Tapou as orelhas com a gola do casaco e tremeu. A primavera ainda não tinha chegado a Londres. A seguir ao parque infantil, havia uma passagem que dava para a Clapham Road. Gabriel virou para a esquerda e avançou, sob as luzes intensas do trânsito, até à estação de metro de Stockwell. Depois de virar mais uma vez, chegou a uma rua sossegada, com uma fila de casas do pós-Segunda Guerra Mundial cobertas de fuligem. O número 8 tinha uma vedação preta e torta de ferro forjado e um jardinzinho em cimento apenas com um caixote azul real para lixo reciclável a servir de decoração. Gabriel levantou a tampa, viu que o caixote estava vazio e subiu os três degraus até à porta da rua. Um letreiro avisava para não incomodar, fosse por que motivo fosse. Ignorando-o, Gabriel encostou o polegar ao botão da campainha — dois toques rápidos e um terceiro mais prolongado, tal como lhe tinham dito.
— Senhor Baker — disse o homem que surgiu à porta. — Que bom ter podido aparecer. O meu nome é Davies. Estou ao seu dispor.
Gabriel entrou na casa e esperou que a porta se fechasse antes de se voltar para ficar de frente para o homem que lhe abrira a porta. Tinha cabelo claro e fino e o rosto inocente de um vigário rural. Não se chamava Davies. Chamava-se Nigel Whitcombe.
— Para que é este secretismo todo? — perguntou Gabriel. — Não vou desertar. Só preciso de dar uma palavrinha ao chefe.
— Os serviços secretos britânicos não veem com bons olhos que se usem os nomes verdadeiros nas casas seguras. Davies é o meu nome profissional.
— Fica no ouvido — disse Gabriel.
— Fui eu quem o escolheu. Sempre gostei dos Kinks.
— E quem é o Baker?
— O Baker és tu — respondeu Whitcombe sem ponta de ironia na voz.
Gabriel entrou na pequena sala de estar. Estava mobilada com todo o encanto de um átrio das partidas de um aeroporto.
— Não podiam ter arranjado uma casa segura em Mayfair ou Chelsea?
— Já não havia imóveis disponíveis no West End. Além disso, este fica mais perto de Vauxhall Cross.
Vauxhall Cross era o quartel-general dos serviços secretos britânicos, também conhecidos como MI6. Em tempos, os serviços tinham funcionado num edifício manhoso, na Broadway, e o diretor-geral dava apenas pelo nome C. Mas, atualmente, os espiões trabalhavam num dos marcos mais vistosos de Londres e o nome do chefe aparecia com regularidade na imprensa. Gabriel preferia os velhos costumes. Em questões de serviços secretos, tal como de arte, era por natureza tradicionalista.
— E será que hoje em dia os serviços secretos britânicos autorizam a que haja café nas casas seguras? — perguntou.
— Café a sério, não — respondeu Whitcombe, com um sorriso. — Mas é capaz de haver um frasco de Nescafé na despensa.
Gabriel encolheu os ombros, como que a querer dizer que se podia arranjar pior do que Nescafé, e seguiu Whitcombe até à exígua cozinha. Dava a ideia de pertencer a um homem que se tinha separado há pouco tempo e acalentava esperanças de uma reconciliação rápida. Havia de facto um recipiente com Nescafé e também uma lata de Twinings que parecia já lá estar desde a altura em que Edward Heath fora primeiro-ministro. Whitcombe encheu a chaleira elétrica de água enquanto Gabriel vasculhava os armários à procura de uma caneca. Havia duas, uma com o logótipo dos Jogos Olímpicos de Londres e a outra com a cara da rainha. Quando Gabriel escolheu a caneca com a rainha, Whitcombe sorriu.
— Não fazia ideia de que eras um admirador de Sua Majestade.
— Tem bom gosto em arte.
— Pode dar-se ao luxo disso.
Whitcombe lançou esse comentário não como uma crítica mas tão-somente como a observação de um facto. Era assim que ele era: cuidadoso, astuto, opaco como uma parede de betão. Iniciara a carreira no MI5, onde tinha feito o tirocínio quanto a operações colaborando com Gabriel contra um oligarca e traficante de armas russo chamado Ivan Kharkov. Pouco tempo depois, passara a ser o principal ajudante de campo e moço de recados confidenciais de Graham Seymour, o diretor-adjunto do MI5. Seymour tinha sido recentemente nomeado o novo chefe do MI6, uma decisão que surpreendeu toda a gente no ramo dos serviços secretos menos Gabriel. Atualmente, Whitcombe servia o seu amo com esse mesmo estatuto, o que explicava a presença dele na casa segura de Stockwell. Pôs umas colheradas de Nescafé na caneca e ficou a ver o vapor a subir pelo bico da chaleira.
— Como anda a vida no número 6? — perguntou Gabriel.
— Quando lá chegámos, houve imensa desconfiança por parte das tropas. Suponho que tivessem direito a sentir-se desconfortáveis. Afinal de contas, estávamos a vir do outro lado do rio, de um serviço rival.
— Mas o Graham não era propriamente um completo estranho. O pai foi uma lenda do MI6. Foi praticamente criado dentro do serviço.
— E isso foi uma das razões para as preocupações terem terminado todas cedo.
Whitcombe tirou um pequeno tablet do bolso do peito do fato e olhou para o ecrã.
— Ele está mesmo a chegar. Consegues tratar do café sozinho?
— Despejo a água e depois remexo, certo?
Whitcombe foi-se embora. Gabriel preparou o café e foi para a sala de estar. Quando lá entrou, viu uma figura alta com um fato de um cinzento muito escuro que lhe assentava perfeitamente e uma gravata azul às riscas. Tinha uma cara de ossos delicados e uniforme; o cabelo possuía um forte matiz prateado que o fazia parecer um modelo que poderia aparecer em anúncios a bugigangas dispendiosas mas inúteis. Estava a segurar com a mão esquerda um telemóvel, colado ao ouvido. Estendeu distraidamente a direita a Gabriel. Tinha um aperto de mão firme, confiante e de duração apropriada. Era uma arma desleal quando utilizada contra adversários inferiores. Mostrava que andara nas melhores escolas, que era membro dos melhores clubes e que era bom em jogos de cavalheiros como o ténis e o golfe, tudo coisas que por acaso eram verdade. Graham Seymour era uma relíquia do glorioso passado britânico, um filho das classes dirigentes que tinha sido criado, educado e programado para chefiar. Uns meses antes, cansado após vários anos a tentar proteger a pátria britânica das forças do extremismo islâmico, confidenciara a Gabriel que planeava deixar o mundo dos serviços secretos para se reformar e ir viver para a villa que tinha em Portugal. E agora, inesperadamente, tinham-lhe sido dadas as chaves do antigo serviço do pai. Gabriel sentiu-se subitamente culpado por ter vindo a Londres. Estava prestes a entregar a Seymour a primeira crise potencial dele no MI6.
Seymour murmurou umas palavras para o telemóvel, interrompeu a ligação e passou-o a Nigel Whitcombe. Virou-se para Gabriel e pôs-se a olhar para ele com curiosidade durante um momento.
— Tendo em conta o nosso longo passado juntos — disse Seymour por fim —, estou um bocadinho relutante em perguntar-te o que te traz por cá. Mas imagino que não tenha outra opção.
Gabriel respondeu contando a Seymour uma pequena parte da verdade — que tinha vindo a Londres por estar a investigar o homicídio de um inglês expatriado que vivia em Itália.
— E esse inglês expatriado tem nome? — perguntou Seymour.
— James Bradshaw — respondeu Gabriel. Parou por uns instantes, antes de acrescentar: — Mas os amigos tratavam-no por Jack.
A cara de Seymour permaneceu uma máscara inexpressiva.
— Acho que li qualquer coisa acerca disso nos jornais — disse. — Tinha sido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tinha? Fez consultoria no Médio Oriente. Foi assassinado na villa dele em Como. Pelos vistos, foi uma coisa bastante desagradável.
— Pois foi — concordou Gabriel.
— E o que tem isso que ver comigo?
— O Jack Bradshaw não era diplomata nenhum, pois não, Graham? Era do MI6. Era um espião.
Seymour conseguiu manter a compostura por mais um instante. Depois semicerrou os olhos e perguntou:
— Que mais tens?
— Três quadros roubados, uma caixa-forte no Freeport de Genebra e um tipo chamado Samir.
— Só isso?
Seymour abanou a cabeça devagar e voltou-se para Whitcombe.
— Cancela os meus compromissos para o resto da tarde, Nigel. E arranja-nos qualquer coisa para beber. Vamos ficar aqui um bocado.
Whitcombe saiu para ir buscar os ingredientes para um gim tónico enquanto Gabriel e Graham Seymour se instalavam na salinha de estar sem graça. Gabriel perguntou aos seus botões que destroços dos serviços secretos teriam passado por aquele sítio antes dele. Um desertor do KGB disposto a vender a alma por trinta peças de prata do Ocidente? Um cientista nuclear iraquiano com uma pasta cheia de mentiras? Um agente duplo jihadista que afirmava saber quando e onde seria a próxima superprodução da Al-Qaeda? Olhou para a parede por cima da lareira elétrica e viu dois cavaleiros de casaco vermelho a conduzir as montadas por um verde prado inglês. A seguir, espreitou pela janela e viu um anjo de porte majestoso no relvado do jardim a escurecer, entregue a uma vigília solitária. Graham Seymour não parecia estar ciente do que o rodeava. Contemplava as mãos, como se tentasse decidir por onde começar o relato. Não se deu ao trabalho de delinear as regras básicas, pois não era necessário tal aviso. Gabriel e Seymour eram tão próximos como podiam ser dois espiões de serviços adversários, o que queria dizer que só desconfiavam um bocadinho um do outro.
— Os italianos sabem que estás aqui? — perguntou Seymour por fim.
Gabriel abanou a cabeça.
— Então e o Departamento?
— Não lhes disse que vinha, mas isso não quer dizer que não estejam a vigiar cada passo que eu dou.
— Agradeço a tua sinceridade.
— Sou sempre sincero contigo, Graham.
— Pelo menos, quando isso te convém.
Gabriel não se deu ao trabalho de retorquir. Preferiu ficar a ouvir com atenção enquanto Seymour, com uma voz transtornada, de quem preferiria estar a falar de outros assuntos, relatava a curta vida e carreira de James «Jack» Bradshaw. Tratava-se de território familiar para um homem como Seymour, pois também tinha vivido uma versão da vida de Bradshaw. Eram ambos produtos de famílias de classe média razoavelmente felizes, tinham sido ambos enviados para escolas privadas dispendiosas mas frias e ambos tinham entrado em universidades de elite, embora Seymour tivesse estado em Cambridge e Bradshaw tivesse ido parar a Oxford. Foi lá que, quando ainda estava a tirar a licenciatura, chamara a atenção de um professor que fazia parte do Corpo Docente de Estudos Orientais. O professor era na verdade um caça-talentos ao serviço do MI6. E Graham Seymour também o conhecia.
— O caça-talentos era o teu pai? — perguntou Gabriel.
Seymour assentiu com a cabeça.
— Já estava no crepúsculo da carreira. Estava demasiado gasto para servir para grande coisa no terreno e se havia coisa que não queria era trabalhar no quartel-general. Por isso, mandaram-no para Oxford e disseram-lhe para estar atento a potenciais recrutas. Um dos primeiros alunos em que reparou foi o Jack Bradshaw. Era difícil não reparar no Jack — acrescentou Seymour depressa. — Era um meteoro. Mas, mais importante, era sedutor, tinha um talento natural para o logro e não possuía escrúpulos nem princípios.
— Por outras palavras, tinha tudo o que era preciso para ser um espião perfeito.
— Na melhor tradição inglesa — acrescentou Seymour, com um sorriso irónico.
E foi assim que, prosseguiu, Jack Bradshaw se lançara no mesmo percurso que tantos outros haviam antes trilhado — um percurso que levava dos tranquilos pátios quadrangulares de Cambridge e Oxford à porta protegida por código dos serviços secretos britânicos. Corria o ano de 1985 quando lá chegou. A Guerra Fria aproximava-se do fim e o MI6 ainda continuava à procura de uma razão que justificasse a sua existência após ter sido destruído de dentro por Kim Philby e os restantes membros da rede de espionagem de Cambridge. Bradshaw passara dois anos no programa de formação do MI6 e depois partira para o Cairo para realizar o estágio. Tornou-se especialista em extremismo islâmico e vaticinou com exatidão o nascimento de uma rede terrorista jihadista internacional encabeçada por veteranos da Guerra do Afeganistão. A seguir, foi para Amã, onde criou fortes laços com o chefe do GID, os todo-poderosos serviços secretos e de segurança da Jordânia. Passado pouco tempo, Jack Bradshaw era considerado o principal agente de campo do MI6 no Médio Oriente. Pressupôs que seria o próximo chefe de divisão, mas o cargo foi atribuído a um rival que o despachou de imediato para Beirute, uma das colocações mais perigosas e ingratas da região.
— E foi aí — disse Seymour — que começaram os problemas.
— Que género de problemas?
— Os do costume — respondeu Seymour. — Começou a beber de mais e a trabalhar de menos. E também passou a ter-se em grande conta. Começou a achar que era o tipo mais esperto onde quer que estivesse e que os superiores em Londres eram uns autênticos incompetentes. Senão, como se podia explicar que não lhe tivessem dado a promoção quando era claramente o candidato mais qualificado para o cargo? A seguir, conheceu uma mulher chamada Nicole Devereaux e a situação foi de mal a pior.
— Quem era ela?
— Uma fotógrafa dos quadros da AFP, a agência noticiosa francesa. Conhecia Beirute melhor do que a maioria dos rivais porque estava casada com um empresário libanês chamado Ali Rashid.
— E como conheceu o Bradshaw? — perguntou Gabriel.
— Num convívio de sexta à noite na embaixada britânica: jornalistas de segunda, diplomatas e espiões a trocarem mexericos e histórias tenebrosas de Beirute com cerveja morna e aperitivos secos a acompanhar.
— E tiveram um caso?
— Bastante tórrido, diga-se de passagem. Segundo consta, o Bradshaw estava apaixonado por ela. Os rumores começaram a circular, claro, e, passado pouco tempo, chegaram aos ouvidos do rezident do KBG na embaixada soviética. Que conseguiu tirar umas fotografias da Nicole no quarto do Bradshaw. E depois avançou.
— Um recrutamento?
— É uma maneira de pôr a coisa — respondeu Seymour. — Na realidade, foi chantagem à moda antiga, pura e dura.
— A especialidade do KGB.
— E também tua.
Gabriel não fez caso do comentário e perguntou em que tinha consistido a abordagem.
— O rezident apresentou ao Bradshaw uma escolha simples — explicou Seymour. — Podia passar a trabalhar como agente a soldo do KGB ou então os russos entregavam discretamente ao marido as fotos da Nicole Devereaux em flagrante delito.
— E presumo que o Ali Rashid não teria reagido lá muito bem à notícia de que a mulher estava a ter um caso com um espião britânico.
— O Rashid era um homem perigoso. — Seymour fez uma pausa, antes de acrescentar: — E um homem com contactos.
— Que espécie de contactos?
— Com os serviços secretos sírios.
— Então o Bradshaw estava com medo que o Rashid a fosse matar?
— E com boas razões. Escusado será dizer que aceitou colaborar.
— E o que lhes deu?
— Os nomes do pessoal do MI6, as operações em curso, informações valiosas sobre as políticas britânicas na região. Em resumo, as nossas estratégias todas para o Médio Oriente.
— E como é que vocês souberam?
— Não fomos nós — respondeu Seymour. — Os americanos descobriram que o Bradshaw tinha uma conta bancária na Suíça com meio milhão de dólares. Comunicaram-nos essa informação com grande pompa e circunstância, numa reunião bastante horrenda em Langley.
— E porque não prenderam o Bradshaw?
— És um homem experimentado — respondeu Seymour. — Diz-me tu.
— Porque isso teria dado azo a um escândalo que o MI6 não se podia dar ao luxo de enfrentar naquela altura.
Seymour tocou no nariz.
— Até deixaram ficar o dinheiro na conta suíça porque não conseguiram descobrir maneira de o apreender sem levantar um alerta. É bem possível que tenha sido o paraquedas dourado mais lucrativo da história do MI6. — Seymour abanou a cabeça lentamente. — Não foi propriamente o nosso melhor momento.
— E o que aconteceu ao Bradshaw depois de sair do MI6?
— Andou uns meses por Beirute a lamber as feridas e depois voltou para a Europa e criou uma empresa de consultoria. Para que conste — acrescentou Seymour —, os serviços secretos britânicos nunca tiveram grande opinião da Meridian Global Consulting Group.
— E sabiam que o Bradshaw andava metido em arte roubada?
— Desconfiávamos que andasse envolvido em empreendimentos que não fossem propriamente legais, mas a maior parte do tempo assobiámos para o ar e esperámos que as coisas corressem pelo melhor.
— E quando souberam que ele tinha sido assassinado em Itália?
— Agarrámo-nos à ficção de que era diplomata. Mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros deixou bem claro que o ia renegar ao primeiro sinal de problemas. — Seymour parou por uns instantes e depois perguntou: — Ficou a faltar alguma coisa?
— O que aconteceu à Nicole Devereaux?
— Segundo parece, alguém falou do caso ao marido. Desapareceu uma noite depois de sair da redação da AFP. Encontraram o corpo dela passados uns dias, no vale de Bekaa.
— Foi o Rashid quem a matou?
— Não — respondeu Seymour. — Os sírios fizeram-no por ele. Divertiram-se um bocadinho com ela antes de a pendurarem num candeeiro e lhe cortarem a garganta. Foi tudo bastante horrível. Mas suponho que isso fosse de esperar. Afinal de contas — acrescentou num tom sorumbático —, eram sírios.
— Pergunto a mim mesmo se terá sido coincidência — disse Gabriel.
— O quê?
— Que matassem o Jack Bradshaw precisamente da mesma maneira.
A única reação de Seymour foi olhar atentamente para o relógio, com ar de quem estava atrasado para um compromisso a que preferia faltar.
— A Helen está à minha espera para jantar — afirmou com profunda falta de entusiasmo. — Infelizmente, agora anda com o bichinho das Áfricas. Não tenho a certeza, mas sou capaz de ter comido cabra a semana passada.
— És um felizardo, Graham.
— A Helen diz a mesma coisa. O meu médico é que não tem assim tanta certeza.
Seymour pousou a bebida e levantou-se. Gabriel não se mexeu.
— Imagino que me queiras fazer mais uma pergunta — disse Seymour.
— Duas, por acaso.
— Estou a ouvir.
— Achas que há alguma hipótese de eu poder dar uma olhadela ao dossiê do Bradshaw?
— Próxima pergunta.
— Quem é o Samir?
— Apelido?
— Ainda estou a tentar descobrir.
Seymour olhou para o teto.
— Há um Samir que tem uma merceariazinha ao virar da esquina do meu apartamento. É membro devoto da Irmandade Muçulmana e acha que o Reino Unido devia ser governado pela sharia. — Olhou para Gabriel e sorriu. — Tirando isso, é um tipo bastante simpático.
A embaixada israelita ficava do outro lado do Tamisa, numa esquina sossegada de Kensington, logo a seguir à High Street. Gabriel entrou discretamente no edifício pelas traseiras, por uma porta não identificada, e desceu as escadas até ao conjunto de salas revestido a chumbo e reservado para o Departamento. O chefe de base não estava lá, apenas um jovem funcionário pouco importante chamado Noah, que se levantou com um salto quando o futuro diretor lhe entrou pela porta dentro sem aviso. Gabriel dirigiu-se para o centro de comunicações seguras — no léxico do Departamento, chamavam-lhe o Santo dos Santos — e enviou de lá uma mensagem para a Avenida Rei Saul a pedir acesso a eventuais ficheiros relativos a um empresário libanês chamado Ali Rashid. Não se incomodou em explicar a razão do pedido. O cargo que se avizinhava tinha os seus privilégios.
Passaram vinte minutos até o ficheiro ser transmitido pela ligação segura — tempo suficiente, calculou Gabriel, para que o atual chefe do Departamento aprovasse essa comunicação. Era curto, com cerca de mil palavras, e estava escrito no estilo conciso que se exigia aos analistas do Departamento. Referia que Ali Rashid era um conhecido ativo dos serviços secretos sírios, que funcionava como tesoureiro de uma grande rede síria no Líbano e que tinha morrido quando uma bomba fez explodir um carro na capital libanesa, em 2011, sendo a autoria do atentado desconhecida. No fim do ficheiro, vinha o código numérico de seis dígitos do agente responsável. Gabriel reconheceu-o; a analista em causa já tinha sido a maior especialista do Departamento em questões relacionadas com a Síria e o Partido Baath. Nos tempos que corriam, era conhecida por outro motivo. Era a mulher do quase ex-chefe.
Tal como a maior parte dos postos avançados do Departamento espalhados pelo mundo, a Base de Londres incluía um pequeno quarto para alturas de crise. Gabriel conhecia bem o quarto, pois já lá tinha ficado várias vezes. Estendeu-se na desconfortável cama individual e tentou adormecer, mas era escusado; o caso não lhe saía da cabeça. Um espião britânico cheio de futuro e que se tinha tresmalhado, um ativo dos serviços secretos sírios que fora feito em pedacinhos com a explosão de uma bomba num carro, três quadros roubados que estavam escondidos debaixo de falsificações de elevada qualidade, uma caixa-forte no Freeport de Genebra… As possibilidades, pensou Gabriel, eram infinitas. Era escusado estar a tentar forçar as peças naquele momento. Precisava de abrir mais uma janela — uma janela para o comércio mundial de quadros roubados — e para isso precisava da ajuda de um mestre ladrão de arte.
E foi assim que ficou deitado na pequena cama dura, sem conseguir adormecer, a braços com recordações e pensamentos voltados para o futuro, até às seis da manhã. Depois de tomar um duche e mudar de roupa, saiu da embaixada quando ainda era de noite e apanhou o metro até à estação de St. Pancras. Partia um Eurostar para Paris às sete e meia; comprou uma série de jornais antes de embarcar e acabou de os ler no momento em que comboio parou na Gare du Nord. Lá fora, uma fila de táxis molhados aguardava sob um céu de um cinzento metalizado. Gabriel passou por eles depressa e esteve uma hora a percorrer as ruas movimentadas à volta da estação até ter a certeza de que não estava a ser seguido. Depois dirigiu-se para o oitavo arrondissement, a caminho de uma rua chamada Rue de Miromesnil.
No mundo dos serviços secretos, tal como na vida, às vezes é necessário lidar com indivíduos que têm tudo menos as mãos limpas. A melhor maneira de apanhar um terrorista era utilizar outro como fonte de informações. E o mesmo se aplicava, concluiu Gabriel, quando se estava a tentar apanhar um ladrão. O que explicava por que razão, às 9h55, se encontrava sentado junto à janela, numa brasserie bastante boa da Rue de Miromesnil, com um exemplar do Le Monde aberto diante dele e um café crème a escaldar encostado ao cotovelo. Às 9h58, reparou numa figura de sobretudo e chapéu a avançar energicamente pelo passeio, como quem vem do Palácio do Eliseu. Essa figura entrou numa pequena loja chamada Antiquités Scientifiques às dez em ponto, acendeu as luzes e passou o letreiro na montra de FERMÉ para OUVERT. Se havia coisa que se podia dizer de Maurice Durand, pensou Gabriel, sorrindo, é que era uma pessoa de hábitos certos. Terminou o café e atravessou a rua deserta até à entrada da loja. Quando carregou nele, o intercomunicador berrou como uma criança inconsolável. Passaram vinte segundos sem que a porta se abrisse. Foi então que o ferrolho deu de si com um baque inóspito e Gabriel entrou discretamente.
A pequena sala de exposições, tal como o próprio Durand, era um modelo de ordem e precisão. Microscópios e barómetros antigos encontravam-se dispostos nas prateleiras, em filas meticulosas, com os acessórios em bronze a reluzirem como os botões da túnica de um soldado; máquinas fotográficas e telescópios espreitavam cegamente para o passado. No centro da sala, estava um globo terrestre, preço disponível mediante solicitação. Durand estava com a pequeníssima mão direita pousada em cima da Ásia Menor. Tinha um fato escuro, uma gravata de um dourado muito intenso e o sorriso mais falso que Gabriel já vira. A careca reluzia com a luz do teto. Os olhos pequenos fitavam o que tinham à frente com a atenção de um terrier.
— Como vai o negócio? — perguntou Gabriel cordialmente.
Durand aproximou-se dos aparelhos fotográficos e pegou numa máquina dos inícios do século XX, com uma lente em bronze fabricada pela Poulenc, em Paris.
— Vou enviar esta peça para um colecionador australiano — informou. — Seiscentos euros. É menos do que eu estava à espera, mas o tipo não se deixou levar.
— Não é esse negócio, Maurice.
Durand ficou calado.
— Você e os seus homens saíram-se com um belo golpe o mês passado em Munique — disse Gabriel. — Um retrato do El Greco desaparece da Alte Pinakothek e nunca mais ninguém o viu ou ouviu falar dele. Não houve pedido de resgate. Nem indicações da polícia alemã de que esteja perto de desvendar o caso. Só silêncio e um espaço vazio na parede de um museu onde dantes estava pendurada uma obra-prima.
— Não me pergunta sobre o meu negócio — retorquiu Durand — e eu não lhe pergunto sobre o seu. São as regras da nossa relação.
— Onde está o El Greco, Maurice?
— Está em Buenos Aires, nas mãos de um dos meus melhores clientes. Tem um fraco — acrescentou Durand —, um apetite insaciável que só eu posso satisfazer.
— E qual é?
— Gosta de ter o que não se pode ter.
Durand voltou a pousar a máquina fotográfica na prateleira da vitrina.
— Imagino que isto não seja uma visita de carácter social. — Gabriel abanou a cabeça. — E o que quer desta vez?
— Informações.
— Sobre o quê?
— Um inglês que morreu chamado Jack Bradshaw. — O rosto de Durand manteve-se inexpressivo. — Imagino que o conhecesse, certo? — perguntou Gabriel.
— Só a sua reputação.
— E faz ideia de quem o retalhou aos pedacinhos?
— Não — respondeu Durand, abanando a cabeça lentamente. — Mas sou capaz de lhe poder indicar a direção certa.
Gabriel foi até à montra e mudou o letreiro de OUVERT para FERMÉ. Durand soltou um suspiro profundo e vestiu o sobretudo.
Eram dos pares mais improváveis que se poderiam encontrar em Paris naquela manhã gelada de primavera, o ladrão de arte e o agente dos serviços secretos, a percorrerem lado a lado as ruas do oitavo arrondissement. Meticuloso em tudo o que fazia, Maurice Durand começou por um breve apanhado sobre a indústria da arte roubada. Todos os anos, milhares de quadros e outros objets d’art desapareciam de museus, galerias, instituições públicas e casas. As estimativas quanto a valores chegavam a atingir os seis mil milhões de dólares, fazendo dos crimes relacionados com a arte a quarta atividade ilícita mais lucrativa do mundo, só atrás do tráfico de droga, da lavagem de dinheiro e do tráfico de armas. E Maurice Durand era responsável por grande parte da mesma. Recorrendo a um conjunto de ladrões profissionais estabelecidos em Marselha, tinha executado alguns dos maiores roubos de arte da história. Já não se considerava um mero ladrão de arte. Era um empresário à escala global, uma espécie de mediador, que se especializava na aquisição discreta de quadros que não se encontravam propriamente à venda.
— Na minha modesta opinião — continuou, sem ponta de modéstia na voz —, há quatro tipos de ladrões de arte. O primeiro é o que anda à caça de emoções, o amante de arte que rouba para obter uma coisa que nunca poderia comprar. Lembro-me, por exemplo, do Stéphane Breitwieser. — Olhou de soslaio para Gabriel. — Conhece o nome?
— O Breitwieser era o empregado de mesa que roubou mais de mil milhões de dólares de arte para a coleção dele.
— Incluindo a Sibila de Cleves de Lucas Cranach, o Velho. Depois de o prenderem, a mãe cortou os quadros aos bocadinhos e deitou-os fora com o lixo. — O francês abanou a cabeça, em sinal de desaprovação. — Estou longe de ser perfeito, mas nunca destruí um quadro. — Olhou outra vez de soslaio para Gabriel. — Mesmo quando o devia ter feito.
— E a segunda categoria?
— O falhado incompetente. Rouba um quadro, não sabe o que lhe fazer e entra em pânico. Às vezes, ainda consegue receber qualquer coisa a título de resgate ou recompensa. Mas, na maioria dos casos, é apanhado. Com toda a franqueza — acrescentou Durand —, não posso com ele. Dá mau nome às pessoas como eu.
— Profissionais que executam roubos por encomenda?
Durand assentiu com a cabeça. Estavam a caminhar pela Avenue Matignon. Passaram os escritórios da Christie’s e viraram para os Campos Elíseos. As pernadas dos castanheiros estavam despidas, com o céu cinzento em pano de fundo.
— Nas forças policiais, há quem insista que eu não existo — prosseguiu Durand. — Acham que sou uma fantasia, uma ilusão que se quer que seja realidade. Não percebem que há gente extremamente rica no mundo que anseia por adquirir grandes obras de arte e não se importa que sejam ou não roubadas. Aliás, há pessoas que querem uma obra-prima por ser roubada.
— E qual é a quarta categoria?
— O crime organizado. São todos muito bons a roubar quadros, mas não são assim tão bons no que toca a pô-los no mercado. — Durand fez uma pausa e depois acrescentou: — E era aí que o Jack Bradshaw entrava. Funcionava como intermediário entre os ladrões e os compradores… um recetador de luxo, se assim se puder dizer. E era bom no que fazia.
— E que género de compradores?
— De vez em quando, vendia diretamente aos colecionadores — respondeu Durand. — Mas, na maioria dos casos, fazia os quadros passar por uma rede de negociantes europeus.
— Onde?
— Paris, Bruxelas e Amesterdão são sítios ótimos para descarregar arte roubada. Mas as leis de propriedade e de privacidade da Suíça continuam a fazer dela uma meca para se pôr bens roubados no mercado.
Atravessaram a Place de la Concorde e entraram no Jardim das Tulherias. À esquerda, ficava o Jeu de Paume, o pequeno museu que os nazis tinham utilizado como centro de triagem quando estavam a pilhar a arte existente em França. Durand parecia estar a fazer propositadamente um esforço para não olhar para lá.
— O seu amigo Jack Bradshaw andava metido numa atividade perigosa — disse. — Tinha de lidar com gente que recorre rapidamente à violência quando as coisas não correm de feição. Os gangues sérvios são particularmente ativos na Europa Ocidental. E os russos também. É possível que o Bradshaw fosse morto por causa de um negócio que deu para o torto. Ou…
A voz de Durand sumiu-se.
— Ou o quê?
Durand hesitou antes de responder.
— Ouviam-se rumores — disse por fim. — Mas nada de concreto, atenção. Eram só especulações com conhecimento de causa.
— Que género de especulações?
— Que o Bradshaw estava a tentar adquirir uma grande quantidade de quadros no mercado negro para uma só pessoa.
— E sabe o nome dessa pessoa?
— Não.
— Está a dizer-me a verdade, Maurice?
— Isto se calhar vai surpreendê-lo — respondeu Durand —, mas quando se está a adquirir uma coleção de quadros roubados, não se anuncia por norma o que se está a fazer.
— Continue.
— E também se ouviam rumores de outro tipo relacionados com o Bradshaw, rumores de que andava a servir de mediador num negócio relativo a uma obra-prima. — Durand olhou em redor de forma quase impercetível antes de prosseguir. Foi um comportamento digno de um espião profissional, pensou Gabriel. — Uma obra-prima que está desaparecida há várias décadas.
— E sabe qual era o quadro?
— Claro. E você também o conhece. — Durand parou e voltou-se para Gabriel. — Era uma cena da Natividade pintada por um artista barroco já no final da carreira. Chamava-se Michelangelo Merisi, mas a maioria das pessoas conhece-o pelo nome da aldeia da família, perto de Milão.
Gabriel lembrou-se das três letras que tinha descoberto no bloco de apontamentos de Bradshaw: C… V… O…
As letras não eram aleatórias.
Eram do nome Caravaggio.
Dois séculos depois de morrer, estava praticamente esquecido. Os seus quadros ganhavam pó nos armazéns de galerias e museus, muitos erroneamente atribuídos, com as figuras iluminadas de forma impressionante a caírem lentamente no vazio dos respetivos e característicos fundos negros. Por fim, em 1951, o célebre historiador de arte italiano Roberto Longhi reuniu as obras que se conheciam do autor e mostrou-as ao mundo no Palazzo Reale, em Milão. A maioria das pessoas que visitou essa extraordinária exposição nunca tinha ouvido falar de Caravaggio.
Os pormenores do início da sua vida são, na melhor das hipóteses, vagos, linhas ténues a carvão numa tela de resto vazia. Nasceu no dia 29 de setembro de 1571, provavelmente em Milão, onde o pai era um pedreiro e arquiteto de sucesso. No verão de 1576, a peste regressou à cidade. Quando finalmente se esbateu, um quinto da diocese milanesa tinha falecido, incluindo o pai, o avô e o tio de Caravaggio. Em 1584, com treze anos, entrou para o ateliê de Simone Peterzano, um monótono mas competente maneirista que dizia ter sido discípulo de Ticiano. O contrato que celebraram, e que sobreviveu até aos tempos atuais, obrigava Caravaggio a treinar dia e noite durante um período de quatro anos. Não se sabe se o cumpriu, nem se chegou sequer a terminar essa aprendizagem. Claramente, a obra frouxa e inerte de Peterzano pouca influência teve nele.
Como quase tudo relacionado com ele, as circunstâncias exatas à volta da saída de Caravaggio de Milão perderam-se no tempo e encontram-se envolvidas em mistério. Há registos que indicam que a mãe morreu em 1590 e que ele recebeu, do modesto património dela, uma herança no valor de cem scudi de ouro. Passado um ano, o dinheiro já desaparecera. E não há em lado nenhum qualquer indicação de que o jovem volátil que tivera formação como artista chegasse a tocar com algum pincel numa tela nos últimos tempos que passou em Milão. Segundo parece, estava demasiado ocupado com outros interesses. Giovanni Pietro Bellori, autor de uma das primeiras biografias dele, sugere que Caravaggio teve de fugir da cidade, talvez após um incidente relacionado com uma prostituta e uma navalha ou talvez após o assassínio de um amigo. Viajou para leste, para Veneza, escreveu Bellori, onde se deixou fascinar pela paleta de Giorgione. No outono de 1592, partiu para Roma.
É daí em diante que se começa a conhecer melhor a vida de Caravaggio. Como toda a gente que vinha do Norte, entrou na cidade pelos portões do Porto del Popolo e dirigiu-se para o bairro dos artistas, um labirinto de ruas imundas à volta do Campo Marzio. De acordo com o pintor Baglione, viveu com um artista siciliano, embora outro dos seus biógrafos iniciais, um médico que conheceu Caravaggio em Roma, deixasse registado que ele se instalou em casa de um padre que o obrigava a tratar da casa e só lhe dava verduras para comer. Caravaggio chamava ao padre Monsignor Insalata e saiu de casa dele passados poucos meses. Viveu pelo menos em dez lugares diferentes durante os primeiros anos em Roma, incluindo no ateliê de Giuseppe Cesari, onde dormia num colchão de palha. Calcorreava as ruas com umas meias pretas esfarrapadas e uma capa igualmente preta e puída. O cabelo preto apresentava-se completamente desgrenhado.
Cesari só deixava Caravaggio pintar flores e frutos, as tarefas de menor importância possível para um aprendiz num ateliê. Aborrecido e convencido de um talento superior, começou a produzir os seus próprios quadros. Vendeu alguns nas ruelas em redor da Piazza Navona. Mas houve um quadro, um retrato luminoso de um rapazinho romano abastado a ser enganado às cartas por um par de batoteiros profissionais, que foi vendido a um negociante que tinha uma loja em frente ao palazzo ocupado pelo cardeal Francesco del Monte. A transação iria alterar por completo o rumo da vida de Caravaggio, pois o cardeal, um conhecedor e patrono das artes, era grande admirador do quadro e comprou-o por uns quantos scudi. Passado pouco tempo, adquiriu um segundo quadro de Caravaggio, que representava uma vidente sorridente a roubar o anel a um rapazinho romano enquanto lhe lia a palma da mão. A determinada altura, os dois homens conheceram-se, apesar de não ser claro de quem terá partido a iniciativa. O cardeal ofereceu ao jovem artista comida, roupa, alojamento e um estúdio no palazzo. Tudo o que pedia a Caravaggio era que pintasse. Caravaggio, na altura com apenas vinte e quatro anos, aceitou a proposta do cardeal. Foi uma das poucas decisões sensatas que tomou na vida.
Depois de se instalar nos aposentos no palazzo, Caravaggio produziu várias obras para o cardeal e respetivo círculo de amigos ricos, incluindo O Flautista, Os Músicos, Baco, Marta e Maria Madalena e São Francisco de Assis em Êxtase. Foi então que, em 1599, recebeu a primeira encomenda de carácter público: duas telas que representassem cenas da vida de São Mateus para a Capela Contarelli, na Igreja de San Luigi dei Francesi. Ainda que controversos, esses quadros tornaram de imediato Caravaggio o artista mais procurado de Roma. Seguiram-se rapidamente outras encomendas, incluindo A Crucificação de São Pedro e A Conversão de São Paulo para a Capela Cerasi da Igreja de Santa Maria del Popolo, A Ceia em Emaús, São João Baptista, A Traição de Cristo, A Dúvida de São Tomé e O Sacrifício de Isaac. Mas nem todas as obras que assinou foram bem recebidas depois de entregues. A Virgem e o Menino com Santa Ana foi retirada da Basílica de São Pedro por, ao que parece, a hierarquia eclesiástica não aprovar o amplo decote de Maria. O retrato dela, de pernas à mostra na Morte da Virgem, foi considerado tão ofensivo que a igreja que lhe tinha feito a encomenda, a Santa Maria della Scala, em Trastevere, se recusou a aceitá-lo. Rubens considerou-o uma das melhores obras de Caravaggio e ajudou-o a encontrar comprador.
O êxito como pintor não trouxe calma à vida pessoal de Caravaggio — com efeito, continuou tão caótica e violenta como sempre. Foi preso por andar com uma espada, sem licença, no Campo Marzio. Enfiou um prato com alcachofras na cara de um empregado, na Osteria del Moro. Passou pela cadeia por atirar pedras aos sbirri, a polícia papal, na Via dei Greci. Esse incidente com as pedras aconteceu às nove e meia de uma noite de outubro de 1604. Por essa altura, Caravaggio vivia sozinho numa casa arrendada, tendo por única companhia Cecco, o seu aprendiz e modelo ocasional. O seu aspeto físico deteriorara-se; já era outra vez a figura desleixada e com roupa preta esfarrapada que costumava vender os quadros na rua. E apesar de ter muitas encomendas, ia trabalhando intermitentemente. Não se sabe bem como, mas conseguiu produzir um retábulo monumental chamado A Deposição de Cristo. Segundo a opinião geral, era o melhor quadro dele.
Houve mais altercações com as autoridades — só em 1605, o seu nome aparece nos registos da polícia de Roma cinco vezes —, mas nenhuma foi mais grave do que o incidente que ocorreu a 28 de maio de 1606. Era domingo e, como de costume, Caravaggio dirigiu-se para os campos da Via della Pallacorda para ir jogar ténis. Foi lá que deparou com Ranuccio Tomassoni, um lutador de rua e um rival na disputa dos afetos de uma jovem e linda cortesã que tinha posado para vários quadros de Caravaggio. Houve uma troca de palavras e ambos puxaram das espadas. Os pormenores da escaramuça não são claros, mas Tomassoni acabou estendido no chão, com uma ferida profunda na parte superior da coxa. Morreu pouco tempo depois e, à noite, Caravaggio já era alvo de uma caça ao homem por toda a cidade. Procurado por homicídio, crime que só tinha um castigo possível, fugiu para os montes Albanos. Nunca mais voltaria a ver Roma.
Partiu para sul, em direção a Nápoles, onde a reputação de grande pintor o precedia, não obstante o homicídio. Deixou lá As Sete Obras de Misericórdia antes de seguir de barco para Malta. Foi admitido nos Cavaleiros de Malta, uma honra dispendiosa pela qual pagou em quadros, e viveu como nobre durante um curto espaço de tempo. Foi então que uma luta com outro membro da ordem o levou a passar mais uma temporada na prisão. Conseguiu escapar e fugir para a Sicília, onde, de acordo com todas as informações, deu mostras de estar louco e transtornado, dormindo com um punhal ao lado. Ainda assim, foi capaz de continuar a pintar. Em Siracusa, deixou O Enterro de Santa Lúcia. Em Messina, produziu dois quadros monumentais: A Ressurreição de Lázaro e o lancinante A Adoração dos Pastores. E para o Oratorio di San Lorenzo, em Palermo, pintou a Natividade com São Francisco e São Lourenço. Trezentos e cinquenta e nove anos depois, na noite de 18 de outubro de 1969, dois homens entraram na capela por uma janela e arrancaram a tela da moldura. Uma cópia desse quadro estava pendurada por trás da secretária do general Cesare Ferrari, no palazzo de Roma. Era o alvo número um da Brigada de Arte.
— Desconfio que o general já saiba da ligação entre o Caravaggio e o Jack Bradshaw — disse Maurice Durand. — Isso explicaria por que razão insistiu tanto consigo para que aceitasse o caso.
— Conhece bem o general — respondeu Gabriel.
— Nem por isso — retorquiu o francês. — Mas é verdade que já estive com ele uma vez.
— Onde?
— Aqui em Paris, num simpósio sobre crimes relacionados com a arte. O general fazia parte de um dos painéis.
— E você?
— Estava a assistir.
— A que título?
— Como negociante de antiguidades valiosas, claro.
Durand sorriu.
— O general pareceu-me ser um tipo sério, muito capaz. Há já muito tempo que não roubo nenhum quadro em Itália.
Estavam a percorrer um trilho de gravilha na allée centrale. As nuvens cor de chumbo tinham sugado toda a cor dos jardins. Era mais parecido com Sisley do que com Monet.
— E será possível? — perguntou Gabriel.
— Que o Caravaggio esteja mesmo prestes a ser adquirido?
Gabriel assentiu com a cabeça. Durand pareceu estar a ponderar muito bem a questão antes de responder.
— Já ouvi as histórias todas — disse por fim. — Que o colecionador que encomendou o roubo se recusou a aceitar o quadro por estar tão danificado depois de o arrancarem da moldura. Que os chefes da Máfia siciliana costumavam exibi-lo nas reuniões como uma espécie de troféu. Que tinha sido destruído numa inundação. Que fora comido por ratazanas. Mas também já ouvi rumores — acrescentou — de que já esteve para ser adquirido.
— E quanto acha que ia valer no mercado negro?
— Os quadros que o Caravaggio assinou enquanto andava em fuga não possuem a profundidade das grandes obras que realizou em Roma. Ainda assim — acrescentou Durand —, um Caravaggio é um Caravaggio.
— Quanto, Maurice?
— A prática diz-nos que um quadro roubado conserva dez por cento do valor original no mercado negro. Se o Caravaggio valesse cinquenta milhões no mercado aberto, sujo ia render cinco milhões.
— Não existe mercado aberto para um Caravaggio.
— O que quer dizer que é verdadeiramente um objeto único. Neste mundo, há homens capazes de pagar quase o que for preciso por uma coisa dessas.
— E você conseguiria vendê-lo?
— Com um único telefonema.
Chegaram ao lago dos barcos, onde havia várias pequenas embarcações à vela a navegar as águas minúsculas e agitadas pela tempestade. Gabriel parou junto à margem e explicou como tinha descoberto três quadros roubados — um Parmigianino, um Renoir e um Klimt — escondidos por baixo de cópias de obras menores, na villa de Jack Bradshaw, no lago Como. Enquanto observava os barcos, Durand foi assentindo com a cabeça pensativamente.
— Parece-me que os estavam a preparar para serem transportados e vendidos.
— E porquê pintar por cima deles?
— Para poderem ser vendidos legalmente. — Durand fez uma pausa e depois acrescentou: — Vendidos legalmente como obras de menor valor, claro.
— E quando as vendas fossem finalizadas?
— Uma pessoa como você seria contratada para retirar as imagens que serviam de capa e preparar os quadros para poderem ser pendurados.
Um par de turistas, duas raparigas, estava a posar para uma fotografia, do outro lado do lago dos barcos. Gabriel agarrou no cotovelo de Durand e conduziu-o em direção à Pirâmide do Louvre.
— Quem pintou essas falsificações era bom — disse. — Suficientemente bom para ser capaz de me enganar numa primeira impressão.
— Não faltam por aí muitos artistas talentosos dispostos a vender os serviços a pessoas como eu, que labutam na parte suja do ramo.
O francês olhou para Gabriel e perguntou:
— Já teve ocasião de falsificar algum quadro?
— Sou capaz de já ter falsificado um Cassatt em tempos.
— Por uma causa meritória, não tenho dúvidas.
Continuaram a caminhar, com a gravilha a estalar-lhes por baixo dos pés.
— E o Maurice? Já precisou dos serviços de algum falsificador?
— Estamos a entrar em território sensível — avisou Durand.
— Nós os dois já passámos essa fronteira há muito tempo.
Chegaram à Place du Carrousel, viraram à direita e seguiram para o rio.
— Sempre que tal é possível — disse Durand —, prefiro criar a ilusão de que um quadro roubado não foi realmente roubado.
— Deixa ficar uma cópia.
— Chamamos-lhes trabalhos de substituição.
— E quantos estão expostos nos museus e casas por essa Europa fora?
— Prefiro não dizer.
— Continue, Maurice.
— Há um homem que me trata de tudo. E esse falsificador chama-se Yves Morel.
— E onde é que ele estudou?
— Na École Nationale des Beaux-Arts de Lyon.
— Mas que prestigiante — retorquiu Gabriel. — E porque não se tornou artista?
— Tentou. Mas as coisas não correram conforme planeado.
— E por isso resolveu vingar-se do mundo da arte passando a falsificador?
— Qualquer coisa desse género.
— Muito nobre.
— Quem tem telhados de vidro…
— E a vossa relação é exclusiva?
— Quem me dera que fosse, mas não lhe consigo dar trabalho que chegue. De vez em quando, aceita encomendas de outros clientes. E um desses clientes era o agora falecido recetador chamado Jack Bradshaw.
Gabriel parou e voltou-se para Durand.
— E é por isso que sabe tanta coisa sobre as atividades do Bradshaw — disse. — Andavam a utilizar os serviços do mesmo falsificador.
— Era tudo bastante caravaggesco — respondeu Durand, assentindo com a cabeça.
— E onde é que o Morel trabalhava para o Bradshaw?
— Numa divisão do Freeport de Genebra. O Bradshaw tinha uma galeria de arte bastante singular lá. O Yves chamava-lhe a galeria dos desaparecidos.
— E onde está ele agora?
— Aqui em Paris.
— Onde, Maurice?
Durand tirou a mão do bolso do sobretudo e indicou que o falsificador poderia ser encontrado algures perto da Basílica do Sacré-Coeur. Entraram no metro, o ladrão de arte e o agente dos serviços secretos, e seguiram para Montmartre.
Yves Morel vivia num prédio de apartamentos na Rue Ravignon. Quando Durand carregou no botão do intercomunicador, ninguém atendeu.
— Deve andar pela Place du Tertre.
— A fazer o quê?
— A vender cópias de quadros impressionistas famosos aos turistas, para as autoridades fiscais francesas julgarem que ele ganha a vida de forma legal.
Foram até à praça, uma confusão de cafés com esplanada e artistas de rua junto da basílica, mas Morel não se encontrava no sítio habitual. A seguir, experimentaram o bar preferido dele, na Rue de Norvins, mas também não havia sinal de Morel por lá. Ligaram-lhe para o telemóvel, mas a chamada não foi atendida.
— Merde — soltou Durand baixinho, voltando a enfiar o telemóvel no bolso do sobretudo.
— E agora?
— Tenho a chave do apartamento dele.
— Porquê?
— De vez em quando, deixa umas coisas no estúdio para eu as ir lá buscar.
— Parece ser um tipo que confia nos outros.
— Ao contrário do que se costuma pensar — respondeu Durand —, há mesmo honra entre os ladrões.
Voltaram para o prédio de apartamentos e tentaram o intercomunicador uma segunda vez. Como ninguém atendeu, Durand sacou um molho de chaves do bolso e serviu-se de uma para abrir a porta. Utilizou a mesma chave para abrir a porta do apartamento de Morel. Foram recebidos pela escuridão. Durand carregou num interruptor na parede e acendeu a luz, iluminando um grande espaço aberto que funcionava em simultâneo como estúdio e espaço de habitação. Gabriel aproximou-se de um cavalete, que tinha em cima uma cópia inacabada de uma paisagem da autoria de Pierre Bonnard.
— E isto também é para vender aos turistas na Place du Tertre?
— Isso é para mim.
— E é para quê?
— Use a imaginação.
Gabriel examinou o quadro com mais atenção.
— Se tivesse de dar um palpite — atirou —, diria que pretende pendurá-lo no Musée des Beaux-Arts de Nice.
— Tem bom olho.
Gabriel virou costas ao cavalete e foi até à grande mesa de trabalho retangular que se encontrava no meio do estúdio. Tinha uma lona com manchas de tinta a tapá-la. Por baixo, estava um objeto com cerca de dois metros de comprimento e sessenta centímetros de largura.
— O Morel é escultor?
— Não.
— Então o que está debaixo da lona?
— Não sei, mas é melhor ver.
Gabriel levantou a ponta da lona e espreitou lá para dentro.
— E então? — perguntou Durand.
— Lamento dizê-lo, mas vai ter de arranjar outra pessoa para acabar o Bonnard, Maurice.
— Deixe-me vê-lo.
Gabriel puxou a lona para trás.
— Merde — soltou Durand baixinho.
O general Ferrari estava à espera junto à muralha da fortaleza antiga de San Remo, às duas da tarde do dia seguinte. Usava um fato de executivo, um sobretudo de lã e óculos escuros que lhe escondiam o olho prostético que tudo via. Com roupa de ganga e cabedal, Gabriel parecia o irmão mais novo e atormentado, aquele que tinha tomado todas as decisões erradas na vida e precisava uma vez mais de dinheiro. Enquanto iam caminhando pelo cais sujo, informou o general do que descobrira, embora tivesse tido o cuidado de não divulgar as fontes. O general não pareceu surpreendido com nada do que estava a ouvir.
— Só se esqueceu de referir uma coisa — disse.
— E qual foi?
— Que o Jack Bradshaw não era diplomata. Era espião.
— E como é que o senhor sabia?
— Toda a gente no ramo sabia do passado do Bradshaw. Era uma das razões para ele ser tão bom no que fazia. Mas não se preocupe — acrescentou o general —, não lhe vou dificultar as coisas com os seus amigos de Londres. Só quero o meu Caravaggio.
Saíram do cais e subiram a encosta da colina em direção ao centro da cidade. Gabriel interrogou-se por que razão alguém havia de querer passar férias ali. A cidade lembrava-lhe uma mulher que já tinha sido bonita a preparar-se para que lhe pintassem o retrato.
— O senhor enganou-me — disse ele.
— Nada disso — respondeu o general.
— Então como descreveria o que se passou?
— Omiti-lhe determinados factos para não influenciar a sua investigação.
— E sabia que o Caravaggio estava prestes a ser adquirido quando me pediu para investigar a morte do Bradshaw?
— Já tinha ouvido rumores nesse sentido.
— E também já tinha ouvido rumores sobre um colecionador que anda a comprar arte roubada a torto e a direito?
O general assentiu com a cabeça.
— E quem é ele?
— Não faço a mínima ideia.
— E desta vez está a dizer-me a verdade?
O general pôs a mão boa em cima do coração.
— Não sei a identidade da pessoa que anda a comprar todas as peças de arte a que consegue deitar a mão. E também não sei quem está por trás do assassínio do Jack Bradshaw. — Fez uma pausa e depois acrescentou: — Mas suspeito que se trate da mesmíssima pessoa.
— E porque mataram o Bradshaw?
— Imagino que tivesse deixado de ser útil.
— Por já ter entregado o Caravaggio?
O general assentiu com a cabeça de forma evasiva.
— Então porque o torturaram primeiro?
— Se calhar, quem o matou queria saber um nome.
— Yves Morel?
— O Bradshaw deve ter recorrido ao Morel para pôr o quadro em condições antes de poder ser vendido.
Olhou para Gabriel com um ar sério e perguntou:
— Como o mataram?
— Partiram-lhe o pescoço. Deu ideia de ter sido um corte transversal completo da medula.
O general fez uma cara feia.
— Silencioso e sem derramar sangue.
— E muito profissional.
— E o que fez você ao pobre diabo?
— Vão tratar dele — respondeu Gabriel em voz baixa.
— Quem?
— É melhor o senhor não saber os pormenores.
O general abanou a cabeça lentamente. Tinha acabado de se tornar cúmplice de um crime grave. Não era a primeira vez.
— Esperemos — disse, passado um momento — que a polícia francesa nunca descubra que você esteve no apartamento do Morel. Tendo em conta o seu historial, são capazes de ficar com a ideia errada.
— Pois — respondeu Gabriel sorumbaticamente —, esperemos que não.
Viraram para a Via Roma. Reverberava com o zunido de uma centena de motorizadas. Quando voltou a falar, Gabriel teve de levantar a voz para que o general o ouvisse.
— Quem foi a última pessoa a tê-lo? — perguntou.
— O Caravaggio? — Gabriel assentiu com a cabeça. — Nem eu tenho a certeza — admitiu o general. — Sempre que prendemos um mafioso, por mais insignificante que seja, ele oferece-se para nos dar informações sobre o paradeiro da Natividade a troco de uma pena de prisão reduzida. Escusado será dizer que já desperdiçámos inúmeras horas de trabalho a perseguir pistas falsas.
— Pensava que o senhor tinha estado quase a encontrá-lo há uns anos.
— Também eu, mas escapou-se-me por entre os dedos. Já estava a começar a pensar que nunca mais ia ter outra oportunidade para o recuperar. — Sorriu contra vontade. — E agora isto.
— Se o quadro tiver sido vendido, o mais provável é já não estar em Itália.
— Concordo. Mas, segundo a minha experiência — acrescentou o general — a melhor altura para encontrar um quadro roubado é logo a seguir a ter mudado de mãos. Só que temos de ser rápidos. Caso contrário, somos capazes de ter de esperar mais quarenta e cinco anos.
— Temos? — O general parou, mas não disse nada. — O meu envolvimento neste caso — afirmou Gabriel por cima do zumbido do trânsito — terminou oficialmente.
— Comprometeu-se a descobrir quem matou o Jack Bradshaw para que o nome do seu amigo não saísse nos jornais. Na minha opinião, ainda não completou a sua tarefa.
— Já lhe dei uma pista importante, para não falar em três quadros roubados.
— Mas não o quadro que eu quero. — Tirou os óculos e fitou Gabriel com a sua mirada monocular. — O seu envolvimento neste caso não terminou, Allon. Aliás, ainda agora começou.
Foram para um pequeno bar com vista para a marina. Estava vazio, com exceção de dois rapazes que se iam queixando do triste estado da economia. Nos tempos que corriam, era um cenário comum em Itália. Não havia empregos, não havia perspetivas, não havia futuro — apenas as lindas recordações do passado que o general e a equipa da Brigada de Arte tinham jurado proteger. Pediu um café e uma sanduíche e depois levou Gabriel para uma mesa lá fora, sob o sol frio.
— Sinceramente — disse quando ficaram outra vez a sós —, nem sei como consegue pensar sequer em abandonar o caso nesta altura. Era a mesma coisa que deixar um quadro por acabar.
— O meu quadro por acabar está em Veneza — respondeu Gabriel — e a minha mulher grávida também.
— O seu Veronese não corre perigo. E a sua mulher também não.
Gabriel olhou para um caixote do lixo a transbordar na borda da marina e abanou a cabeça. Os antigos romanos tinham inventado o aquecimento central, mas, algures pelo caminho, os descendentes deles tinham-se esquecido de como se deitava fora o lixo.
— Encontrar esse quadro pode demorar meses — disse.
— Não temos meses. Diria que temos, no máximo, umas semanas.
— Então suponho que era melhor o senhor general e os seus homens começarem a mexer-se.
O general abanou a cabeça lentamente.
— Nós somos bons a pôr telefones sob escuta e a fazer acordos com escumalha mafiosa. Mas não fazemos bem operações clandestinas, sobretudo fora de Itália. Preciso de quem atire um isco para dentro das águas do mercado da arte roubada e veja se conseguimos tentar o Senhor Peixe Graúdo a fazer outra aquisição. Ele anda por aí algures. Só precisamos de descobrir qualquer coisa que lhe interesse.
— Não se descobrem obras-primas que custem uma série de milhões de dólares. Roubam-se.
— Em grande estilo — acrescentou o general. — O que quer dizer que não devia ser qualquer coisa saída de uma casa ou de uma galeria privada.
— Tem noção do que está a dizer?
— Por acaso, até tenho.
O general fez um sorriso conspiratório.
— A maior parte das operações clandestinas implica enviar um falso comprador para o terreno. Mas a sua vai ser diferente. Você vai fazer passar-se por um ladrão que tem uma tela roubada para vender. E o quadro tem de ser verdadeiro.
— Então porque não me deixa pedir à Galeria Borghese que me empreste qualquer coisa bonita?
— O museu nunca iria na conversa. Além disso — acrescentou o general —, o quadro não pode vir de Itália. Caso contrário, quem tiver o Caravaggio pode desconfiar que eu estou envolvido.
— Nunca vai poder acusar ninguém depois de uma coisa destas.
— Acusar está em segundo lugar na minha lista de prioridades. Quero é recuperar esse Caravaggio.
O general calou-se de repente. Gabriel teve de reconhecer que estava intrigado com a ideia.
— Não posso de maneira nenhuma ser eu o protagonista da operação — disse passado um momento. — A minha cara é demasiado conhecida.
— Então suponho que vá ter de arranjar um bom ator para interpretar esse papel. E se fosse a si, também contratava uns capangas. O submundo pode ser um lugar perigoso.
— Não me diga. — O general ficou calado. — Os capangas não saem baratos — disse Gabriel. Nem os ladrões competentes.
— E não pode pedir ao seu serviço que lhe empreste uns quantos?
— Capangas ou ladrões?
— As duas coisas.
— Impossível.
— E de quanto dinheiro precisa?
Gabriel fez questão de mostrar que estava a ponderar bem a resposta.
— Dois milhões, no mínimo dos mínimos.
— Sou capaz de ter um milhão na lata de café debaixo da secretária.
— Aceito.
— Por acaso — retorquiu o general, sorrindo —, o dinheiro até está numa pasta dentro da bagageira do meu carro. E também tenho uma cópia do dossiê do caso Caravaggio. Assim já fica com alguma coisa para ler enquanto espera que o Senhor Peixe Graúdo venha à superfície.
— E se ele não morder o isco?
— Suponho que você terá de roubar outra coisa qualquer — respondeu o general, encolhendo os ombros. — É o que é maravilhoso quando se roubam obras-primas. Na verdade, não é mesmo nada difícil.
Conforme prometido, o dinheiro estava dentro da bagageira do carro oficial do general — um milhão de euros em notas já muito usadas, cuja origem o general não quis especificar. Gabriel pôs a pasta em cima do banco do passageiro do seu carro e arrancou sem dizer mais uma palavra. À saída de San Remo, já finalizara o esboço preparatório da operação para recuperar o Caravaggio perdido. Tinha financiamento e acesso ao ladrão de arte mais bem-sucedido do mundo. Agora, só precisava de uma pessoa para lhe introduzir um quadro roubado no mercado. Não podia ser um amador. Precisava de um agente experiente que tivesse sido treinado nas artes negras do logro. Uma pessoa que se sentisse à vontade ao pé de criminosos. Uma pessoa que soubesse cuidar de si própria se as coisas se tornassem violentas. Gabriel conhecia precisamente um homem assim, do outro lado do mar, na ilha da Córsega. Era um bocadinho como Maurice Durand, um antigo adversário que agora era um cúmplice, mas as semelhanças terminavam aí.
Já era perto da meia-noite quando o ferry atracou no porto de Calvi, não sendo propriamente horas para uma visita de carácter social na Córsega, e por isso Gabriel deu entrada num hotel próximo do terminal para ir dormir. De manhã, tomou o pequeno-almoço num pequeno café junto ao cais; depois entrou para o carro e seguiu pela costa ocidental escarpada. Durante algum tempo, a chuva teimou em cair, mas as nuvens foram desaparecendo gradualmente e o mar passou da cor do granito para turquesa. Gabriel parou na povoação de Porto para comprar duas garrafas de rosé corso gelado e depois dirigiu-se para o interior por uma estrada estreita revestida de ambos os lados por olivais e conjuntos de pinheiros-larícios. O ar cheirava à macchia — a densa vegetação rasteira composta por alecrim, esteva e alfazema que cobria grande parte da ilha — e foi vendo nas aldeias muitas mulheres vestidas da cabeça aos pés com o preto da viuvez, sinal de que a vendetta lhes tinha levado algum homem da família. Outrora, essas mulheres talvez tivessem apontado para ele da forma como os corsos fazem para afastar os efeitos do occhju, o mau-olhado, mas agora evitavam fitá-lo durante muito tempo. Sabiam que era amigo de Don Anton Orsati, e os amigos do don podiam viajar para todo o lado na Córsega sem medo de represálias.
Ao longo de mais de dois séculos que o clã Orsati estava associado a duas coisas na ilha da Córsega: azeite e morte. O azeite vinha dos olivais que cresciam com vigor nas suas vastas propriedades; a morte surgia às mãos dos assassinos a seu soldo. Os Orsati matavam em nome dos que não o conseguiam fazer por conta própria: os notáveis que eram demasiado melindrosos para sujar as mãos; as mulheres que não tinham nenhum homem na família para o fazer em nome delas. Ninguém sabia quantos corsos tinham morrido às mãos dos assassinos a soldo dos Orsati, muito menos os próprios Orsati, mas, segundo o que se dizia na região, o número já ia nos milhares. E até poderia ser bem mais elevado não fosse pelo rigoroso processo de escrutínio do clã. Os Orsati atuavam de acordo com um código severo. Recusavam-se a levar a cabo um assassínio sem estarem convencidos de que a pessoa que viera ter com eles tinha sido de facto lesada e que era necessária uma vingança com derramamento de sangue.
No entanto, isso mudou com Don Anton Orsati. Quando assumiu o comando da família, as autoridades francesas já tinham conseguido erradicar as rixas e a vendetta em praticamente toda a ilha, a não ser nas áreas mais isoladas, restando poucos corsos a precisar dos serviços dos taddunaghiu. Com a procura local em declínio acentuado, Orsati não tivera outra escolha senão procurar oportunidades noutro sítio — nomeadamente, do outro lado do mar, na Europa continental. Agora, aceitava quase todas as ofertas de trabalho que lhe passavam pela secretária, por mais desagradáveis que fossem, e os assassinos a seu soldo eram considerados os mais seguros e profissionais do continente. Na verdade, Gabriel era apenas uma de duas pessoas a já ter sobrevivido a um assassínio por contrato às mãos da família Orsati.
Don Anton Orsati vivia nas montanhas, no centro da ilha, rodeado por muralhas de macchia e grupos de guarda-costas. Havia dois de vigia junto ao portão. Quando viram Gabriel, afastaram-se e convidaram-no a entrar. Uma estrada de terra batida fê-lo atravessar um olival que poderia ter sido pintado por Van Gogh e conduziu-o ao pátio de entrada de gravilha da gigantesca villa do don. À porta, havia mais guarda-costas à espera. Revistaram à pressa o que Gabriel trazia e depois um deles, um assassino moreno e de cara afilada que parecia ter uns vinte anos, levou-o ao escritório do don, no andar de cima. Era uma divisão espaçosa, com mobília corsa rústica e uma varanda com vista para o vale privado do don. A madeira da macchia crepitava na lareira de pedra. Enchia o ar com um perfume de alecrim e salva.
No meio do escritório, encontrava-se a grande secretária de madeira de carvalho onde o don trabalhava. Em cima dela, estavam uma garrafa decorativa de azeite Orsati, um telefone que ele raramente utilizava e um livro-mestre encadernado a pele que continha os segredos da sua singular atividade. Os taddunaghiu eram todos funcionários da Orsati Olive Oil Company e os homicídios que levavam a cabo eram registados como encomendas de produtos, o que queria dizer que, no mundo de Orsati, o azeite e o sangue corriam juntos num único e homogéneo empreendimento. Os assassinos eram todos de ascendência corsa, menos um. Devido à sua extensa formação, encarregava-se apenas das missões mais difíceis. E também funcionava como diretor de vendas para o lucrativo mercado da Europa Central.
Tendo em conta os padrões corsos, o don era um homem grande, com quase dois metros de altura e espadaúdo. Usava calças largas, sandálias de cabedal empoeiradas e uma camisa branca engomada que a mulher lhe passava a ferro todas as manhãs e depois outra vez à tarde quando ele acordava da sesta. Tinha cabelo e olhos pretos. Quando Gabriel lhe apertou a mão, parecia ter sido esculpida em pedra.
— Seja bem-vindo de novo à Córsega — disse Orsati ao aceitar as duas garrafas de rosé que Gabriel lhe trouxera. — Eu sabia que não ia conseguir ficar muito tempo longe daqui. Não leve isto a mal, Gabriel, mas sempre achei que tinha um bocadinho de sangue corso nessas veias.
— Posso assegurar-lhe, Don Orsati, que não é esse o caso.
— Não importa. Já é praticamente um de nós. — Baixou a voz e acrescentou: — Os homens que matam em conjunto criam um laço que não pode ser desfeito.
— Isso é mais um dos seus provérbios corsos?
— Os nossos provérbios são sagrados e exatos, o que por si só também é um provérbio. — Sorriu. — Não devia estar em Veneza com a sua mulher?
— E estava — respondeu Gabriel.
— Então o que o traz à Córsega? Negócios ou lazer?
— Negócios, lamento dizê-lo.
— E o que se passa desta vez?
— Um favor.
— Outro? — Gabriel assentiu com a cabeça. — Aqui na Córsega — disse o don, franzindo o sobrolho em sinal de reprovação —, acreditamos que o destino de um homem fica escrito logo à nascença. E você, meu amigo, parece estar fadado a estar sempre a resolver problemas para os outros.
— Há destinos piores, Don Orsati.
— O céu ajuda quem se ajuda a si mesmo.
— Mas que caridoso — retorquiu Gabriel.
— A caridade é para os padres e para os tontos. — Olhou para a pasta que Gabriel trazia na mão. — O que traz aí?
— Um milhão de euros em notas usadas.
— E onde arranjou isso?
— Foi um amigo em Roma.
— Italiano? — Gabriel assentiu com a cabeça. — No final de muitos desastres — afirmou Don Orsati soturnamente —, está sempre um italiano.
— Por acaso, sou casado com uma italiana.
— E é por isso que acendo muitas velas por si. — Gabriel tentou mas não conseguiu suprimir um sorriso. — E como é que ela está? — perguntou o don.
— Pelos vistos, irrito-a até mais não. Tirando isso, está bastante bem.
— É da gravidez — retorquiu o don, assentindo com a cabeça pensativamente. — Assim que as crianças nascerem, vai ser tudo diferente.
— Em que sentido?
— Vai ser como se você não existisse. — O corso olhou outra vez para a pasta. — Porque anda por aí com um milhão de euros em notas usadas?
— Pediram-me para encontrar uma coisa valiosa e vai ser preciso bastante dinheiro para a recuperar.
— Outra rapariga desaparecida? — perguntou o don.
— Não — respondeu Gabriel. — Isto.
Gabriel entregou a Orsati uma fotografia de uma moldura vazia exposta sobre o altar do Oratorio di San Lorenzo. Uma expressão de reconhecimento passou como um relâmpago pelas feições pesadas do corso.
— A Natividade? — perguntou.
— Nunca tinha percebido que era um homem dado às artes, Don Orsati.
— E não sou — admitiu ele —, mas tenho seguido esse caso com atenção ao longo dos anos.
— Por alguma razão especial?
— Por acaso, estava em Palermo na noite em que o Caravaggio foi roubado. Aliás — acrescentou Don Orsati, com um sorriso —, até tenho quase a certeza de que fui eu quem descobriu que ele tinha desaparecido.
Na varanda com vista para o vale, Don Anton Orsati relatou que, no final do verão de 1969, tinha aparecido na Córsega um empresário siciliano chamado Renato Francona. O siciliano queria vingar a filha linda e nova, assassinada umas semanas antes por Sandro di Luca, um membro importante da Cosa Nostra. Don Carlu Orsati, na altura o chefe do clã Orsati, não quis tomar parte nisso. Mas o filho, um talentoso assassino chamado Anton, acabou por convencer o pai a deixá-lo levar a cabo o contrato. Na noite em questão, correu tudo conforme planeado, exceto o tempo, que fez com que fosse impossível sair de Palermo. Sem nada melhor para fazer, o jovem Anton pôs-se à procura de uma igreja para ir confessar os pecados. E a igreja em que entrou foi o Oratorio di San Lorenzo.
— E foi precisamente isto — disse Orsati, mostrando a fotografia da moldura vazia — que eu vi nessa noite. Como poderá calcular, não informei a polícia do roubo.
— E o que aconteceu ao Renato Francona?
— A Cosa Nostra matou-o umas semanas depois.
— Deram por adquirido que ele estava por trás do assassínio do Di Luca?
Orsati assentiu com a cabeça ponderosamente.
— Mas pelo menos morreu com honra.
— Porquê?
— Porque vingou o assassínio da filha.
— E depois ainda perguntam por que razão a Sicília não é a grande potência económica e intelectual do Mediterrâneo.
— Não é a cantar que se ganha dinheiro — retorquiu o don.
— E onde quer chegar com isso?
— Há já várias gerações que a vendetta tem aguentado o negócio desta família — respondeu o don. — E o assassínio do Sandro di Luca veio provar que éramos capazes de atuar fora da Córsega sem sermos detetados. O meu pai foi sempre contra isso até morrer. Mas quando ele nos deixou transformei o negócio da família numa coisa universal.
— Se não estivermos a crescer, estamos a morrer.
— Isso é algum provérbio judeu?
— É capaz — respondeu Gabriel.
A mesa estava posta, para um almoço corso tradicional de comida com condimentos da macchia. Gabriel serviu-se dos legumes e dos queijos, mas ignorou a salsicha.
— É kosher — disse o don, enfiando várias garfadas de carne no prato de Gabriel.
— Não sabia que havia rabis na Córsega.
— Imensos — assegurou-lhe o don.
Gabriel pôs a salsicha de parte e perguntou ao don se continuava a ir à igreja depois de acabar com uma vida.
— Se fizesse isso — respondeu o corso —, passava mais tempo de joelhos do que uma lavadeira. Além do mais, nesta altura já estou para lá da redenção. Deus pode fazer o que quiser comigo.
— Adorava ver a conversa entre si e Deus.
— Que a possamos ter com um almoço corso a acompanhar.
Orsati sorriu e encheu novamente o copo de Gabriel com rosé.
— Vou contar-lhe um segredo — disse, voltando a pousar a garrafa no meio da mesa. — A maioria das pessoas que matamos merece morrer. À sua pequena maneira, o clã Orsati tem feito do mundo um lugar muito melhor.
— E também ia achar isso se me tivessem matado?
— Não seja tonto — respondeu o don. — Deixá-lo ficar vivo foi a minha melhor decisão.
— Se bem me lembro, Don Orsati, o senhor não teve nada que ver com a decisão de não me matarem. Aliás — acrescentou Gabriel com contundência —, até se mostrou resolutamente contra.
— Até eu, o infalível Don Anton Orsati, me engano de vez em quando, embora nunca tenha feito nada tão idiota como aceitar encontrar um Caravaggio para os italianos.
— Não tive propriamente grande escolha na matéria.
— É uma ideia condenada à partida.
— A minha especialidade.
— Há mais de quarenta anos que os Carabinieri andam à procura desse quadro e nunca o conseguiram encontrar. Na minha opinião, o mais provável é que já tenha sido destruído há muito tempo.
— Não é isso que se diz por aí.
— E o que tem ouvido dizer?
Gabriel respondeu à pergunta revelando ao don as mesmas informações que revelara ao general Ferrari, em San Remo. A seguir, explicou-lhe o plano que tinha para recuperar o quadro. O don ficou claramente intrigado.
— E o que tem isso que ver com os Orsati? — perguntou.
— Preciso de lhe pedir que me empreste um dos seus homens.
— Alguém em específico?
— O diretor de vendas para a Europa Central.
— Mas que surpresa. — Gabriel ficou calado. — E se eu concordar?
— Uma mão lava a outra — respondeu Gabriel — e as duas lavam a cara.
O don sorriu.
— Afinal de contas, se calhar você é mesmo corso.
Gabriel contemplou o vale e sorriu também.
— Não tenho essa sorte, Don Orsati.
Afinal, o homem de quem Gabriel precisava para encontrar o Caravaggio tinha saído da ilha em negócios. Don Orsati não quis esclarecer se esses negócios diziam respeito a azeite ou sangue, disse apenas que ele iria regressar dentro de dois dias, três, no máximo. Deu a Gabriel uma pistola Tanfoglio e as chaves da villa que ficava no vale seguinte e onde iria esperar pelo homem. Gabriel conhecia bem a villa. Ficara lá com Chiara a seguir à última operação e tinha sido lá, na varanda pintalgada pelo sol, que soubera que ela estava grávida dos filhos dele. A casa só tinha um problema; para lá chegar, Gabriel precisava de passar pelas três oliveiras antigas junto às quais o malfadado bode de Don Casabianca, com as cores de um palomino, fazia a sua vigia eterna, desafiando todos aqueles que se atrevessem a invadir-lhe o território. O bode velho era, em geral, uma criatura malévola, mas parecia reservar um ódio especial em relação a Gabriel, com quem tivera inúmeros confrontos pejados de ameaças e insultos de parte a parte. No final do almoço, Don Orsati prometeu interceder a favor de Gabriel junto de Don Casabianca.
— Pode ser que ele possa chamar a fera à razão — acrescentou o don, num tom cético.
— Ou pode ser que possa transformar o bode numa carteira e num par de sapatos.
— Não se ponha com ideias — avisou o don. — Se tocar num pelo que seja da cabeça desse bode miserável, vai haver uma rixa.
— Então e se ele desaparecer simplesmente?
— A macchia não tem olhos — avisou o don de novo —, mas vê tudo.
Depois de dizer isso, desceu as escadas com Gabriel e acompanhou-o até ao carro. Gabriel seguiu a estrada para o interior, até esta passar a terra batida, e depois continuou nela um bocadinho mais; e quando chegou à curva apertada à esquerda, viu o bode de Don Casabianca atado a uma das três oliveiras antigas, com uma expressão de humilhação no focinho grisalho. Gabriel baixou o vidro da janela e, em italiano, lançou ao bode uma série de insultos relacionados com o aspeto do animal, os antepassados deste e a indignidade da situação em que se encontrava. A seguir, rindo-se, subiu a encosta da colina, em direção à villa.
Era pequena e arrumada, com um telhado de telhas vermelhas e janelas grandes que davam para o vale. Quando Gabriel entrou, percebeu de imediato que ele e Chiara tinham sido as últimas pessoas a lá ficar. O caderno de esboços dele estava em cima da mesinha de apoio, na sala de estar, e encontrou no frigorífico uma garrafa por abrir de Chablis que lhe tinha sido oferecida pelo ausente diretor de vendas de Don Orsati para a Europa Central. Já as prateleiras da despensa estavam vazias. Gabriel abriu as portas duplas para deixar entrar a brisa da tarde e sentou-se na varanda, a analisar o dossiê Caravaggio do general, até que o frio o obrigou a voltar para dentro. Por essa altura, passavam poucos minutos das quatro e o Sol parecia equilibrar-se sobre a orla do vale. Tomou um duche rápido, vestiu roupa lavada e foi de carro até à aldeia para fazer umas compras antes de as lojas fecharem.
Já havia uma povoação naquele canto isolado da Córsega desde os dias tenebrosos que se seguiram à queda do Império Romano, quando os vândalos devastaram a costa de forma tão implacável que os habitantes da ilha não tiveram outra escolha senão fugir para as colinas para sobreviver. Uma única rua antiga prolongava-se sinuosamente pelo meio de chalés e prédios de apartamentos até ir dar a uma ampla praça, no ponto mais alto da aldeia. Em três dos lados, havia lojas e cafés, e, no quarto, ficava a igreja antiga. Gabriel descobriu um lugar para estacionar e começou a dirigir-se para o mercado, mas decidiu que primeiro precisava de se fortificar com um café. Entrou num dos cafés e sentou-se a uma mesa onde podia ver os homens a jogar boules na praça, à luz de um candeeiro de ferro. Um dos homens reconheceu Gabriel como amigo de Don Orsati e convidou-o a participar no jogo. Gabriel fingiu que tinha o ombro dorido e, em francês, respondeu que preferia continuar como espectador. Não disse nada sobre o facto de ter de ir às compras. Na Córsega, eram as mulheres que ainda se encarregavam disso.
Foi nesse preciso momento que os sinos da igreja bateram as cinco horas da tarde. Passados uns minutos, a pesada porta de madeira abriu-se e um padre com uma sotaina preta surgiu diante das escadas da igreja. Ficou ali parado, a sorrir de modo benévolo, enquanto vários paroquianos, sobretudo velhas, avançavam em fila indiana para a praça. Uma das mulheres, após dar as boas-noites ao padre com um aceno de cabeça distraído, parou de repente, como se apenas ela estivesse consciente da existência de perigo. A seguir, recomeçou a andar e desapareceu pela entrada de uma casinha torta adjacente à reitoria.
Gabriel pediu outro café. Depois mudou de ideias e acabou por pedir um copo de vinho tinto. O crepúsculo já não passava de uma recordação; as luzes brilhavam vivamente nas lojas e nas janelas da casinha torta ao lado da reitoria. Um rapaz de dez anos com longos cabelos encaracolados estava agora à porta, que se encontrava apenas uns centímetros aberta. Uma mão pequena e pálida emergiu dessa brecha, segurando um papel azul. O rapaz agarrou no papel e atravessou a praça com ele, até ao café, onde o pousou na mesa de Gabriel, junto ao copo de vinho tinto.
— O que se passa desta vez? — perguntou Gabriel.
— Ela não disse — respondeu o rapaz. — Nunca diz.
Gabriel deu umas moedas ao rapaz para ir comprar um doce e foi bebendo o vinho ao mesmo tempo que a noite caía em definitivo sobre a praça. Por fim, pegou no papel e leu a única linha que lá tinha sido escrita:
Posso ajudar-te a encontrar o que procuras.
Gabriel sorriu, enfiou o bilhete no bolso e deixou-se ficar sentado a beber o que restava do vinho. Depois levantou-se e atravessou a praça.
Estava à espera para o receber à entrada de casa, com um xaile à volta dos ombros delicados. Os olhos dela eram dois poços negros sem fundo; a cara era branca como farinha de padeiro. Lançou-lhe um olhar desconfiado e só depois lhe estendeu a mão. Estava quente e não pesava nada. Apertá-la era como segurar uma ave canora com cuidado.
— Sê bem-vindo de regresso à Córsega — disse.
— Como sabia que eu tinha voltado?
— Eu sei tudo.
— Então diga-me como eu cá cheguei.
— Não me insultes.
O ceticismo de Gabriel era um fingimento. Há muito que abandonara quaisquer dúvidas sobre a capacidade da velha para vislumbrar tanto o passado como o futuro. Ela apertou-lhe a mão com força e fechou os olhos.
— Estavas a viver na cidade da água com a tua mulher e a trabalhar numa igreja onde um grande pintor está enterrado. Sentias-te feliz, verdadeiramente feliz, pela primeira vez na vida. E foi então que uma criatura de um só olho apareceu vinda de Roma e…
— Muito bem — interrompeu Gabriel. — Já provou o que queria.
Largou a mão de Gabriel e apontou para a pequena mesa de madeira na sala de visitas. Em cima dela, estavam um prato raso com água e uma vasilha de azeite. Eram os instrumentos do ofício da mulher. A velha era uma signadora. Os corsos acreditavam que ela tinha o poder de curar quem estivesse infetado com o occhju, o mau-olhado. Em tempos, Gabriel desconfiara que ela não passava de uma simples ilusionista, mas há muito que já não era esse o caso.
— Senta-te — disse ela.
— Não — respondeu Gabriel.
— Porquê?
— Porque nós não acreditamos nessas coisas.
— Os israelitas?
— Sim — respondeu ele. — Os israelitas.
— Mas já fizeste isto.
— Porque me falou de coisas do meu passado, coisas que não podia minimamente saber.
— E por isso tiveste curiosidade, foi?
— Suponho que sim.
— E agora já não tens curiosidade?
A mulher sentou-se à mesa no lugar habitual e acendeu uma vela. Após um instante de hesitação, Gabriel sentou-se à frente dela. Empurrou a vasilha de azeite para o meio da mesa e cruzou as mãos obstinadamente. A velha fechou os olhos.
— A criatura de um só olho pediu-te para encontrares uma coisa por ela, certo?
— Certo — respondeu Gabriel.
— É um quadro, não é? Uma obra de um louco, de um assassino. Levaram-na de uma pequena igreja há muitos anos, numa ilha do outro lado do mar.
— Foi o Don Orsati quem lhe contou isso?
A velha abriu os olhos.
— Nunca falei com o don deste assunto.
— Continue.
— O quadro foi roubado por homens do mesmo género que o don, só que muito piores. Trataram-no muito mal. Ficou praticamente destruído.
— Mas o quadro ainda sobrevive?
— Sim — respondeu ela, assentindo com a cabeça devagar —, ainda sobrevive.
— E onde está agora?
— Perto.
— Perto de quê?
— Não está ao meu alcance dizer-te isso. Mas se realizares o teste do azeite e da água — acrescentou, olhando de relance para o meio da mesa —, talvez te possa ajudar. — Gabriel não se mexeu. — De que tens medo? — perguntou a velha.
— Da senhora — respondeu Gabriel com sinceridade.
— Tens a força de Deus. Porque havias de ter medo de uma pessoa débil e velha como eu?
— Porque a senhora também tem poderes.
— Poderes de visão — retorquiu ela. — Mas poderes terrenos, não.
— A capacidade para ver o futuro é uma grande mais-valia.
— Sobretudo para uma pessoa que tenha uma atividade como a tua.
— É verdade — concordou Gabriel, com um sorriso.
— Então porque não realizas o teste do azeite e da água? — Gabriel ficou calado. — Já perdeste muitas coisas — disse a velha, num tom afável. — Uma mulher, um filho, a tua mãe. Mas os teus dias de sofrimento já ficaram para trás.
— Os meus inimigos nunca vão tentar matar a minha mulher?
— Não lhe vai acontecer nada, nem a ela nem aos teus filhos.
A velha apontou com a cabeça para a vasilha de azeite. Desta vez, Gabriel molhou o indicador no azeite e deixou que caíssem três gotas na água. Segundo as leis da física, o azeite deveria ter-se acumulado num único glóbulo. Em vez disso, despedaçou-se num sem-número de gotículas e, passado pouco tempo, já não havia vestígio dele.
— Estás infetado com o occhju — declarou a velha com grande seriedade. — O melhor que tens a fazer é deixar-me expulsá-lo do teu organismo.
— Prefiro tomar duas aspirinas.
A velha espreitou para dentro do prato da água com o azeite.
— O quadro de que andas à procura é uma representação do Menino Jesus, não é assim?
— É.
— É bastante curioso que um homem como tu ande à procura do Nosso Senhor e Salvador.
Uma vez mais, baixou os olhos na direção do prato com a água e o azeite.
— O quadro já saiu da ilha do outro lado do mar. Está com um aspeto diferente do que tinha antes.
— Em que sentido?
— Foi restaurado. O homem que fez esse trabalho já morreu. Mas isso já tu sabes.
— Um dia ainda vai ter de me mostrar como faz isso.
— Não é coisa que se possa ensinar. É uma dádiva de Deus.
— E onde está o quadro agora?
— Não te consigo dizer.
— E quem o tem?
— Está para lá dos meus poderes dar-te o nome dele. A mulher pode ajudar-te a encontrá-lo.
— Qual mulher?
— Não te consigo dizer. Mas não deixes que lhe aconteça nada, senão perdes tudo.
A cabeça da velha tombou-lhe para o ombro; a profecia tinha-a esgotado. Gabriel enfiou várias notas por baixo do prato com a água e o azeite.
— Tenho mais uma coisa para te dizer antes de ires embora — anunciou a velha quando Gabriel se levantou.
— E o que é?
— A tua mulher já não está na cidade da água.
— E quando aconteceu isso? — perguntou Gabriel.
— Quando estavas com a criatura de um só olho na cidade perto do mar.
— E onde está ela agora?
— Está à tua espera — respondeu a velha — na cidade da luz.
— Mais alguma coisa?
— Sim — disse ela, com as pálpebras cerradas. — Já não resta muito tempo de vida ao velho. Faz as pazes com ele antes que seja tarde demais.
A mulher tinha razão pelo menos numa coisa; segundo parecia, Chiara já não estava de facto em Veneza. Quando Gabriel lhe ligou para o telemóvel, tiveram uma conversa curta e ela disse-lhe que se estava a sentir bem e que estava outra vez a chover. Gabriel foi ver rapidamente como estava o tempo em Veneza e viu que os últimos dias tinham sido de sol. Quando telefonou para o apartamento, ninguém atendeu, e o pai, o inescrutável rabi Zolli, parecia ter uma lista de desculpas convenientes para explicar por que razão a filha não se encontrava no gabinete. Tinha ido às compras, tinha ido à livraria do gueto, tinha ido visitar os velhos ao lar. «Eu digo-lhe para ela te ligar mal volte.» Shalom, Gabriel. Gabriel interrogou-se se o bonito guarda-costas do general estaria envolvido no desaparecimento de Chiara ou se também teria sido enganado. Suspeitou que fosse esse o caso. Chiara estava mais bem treinada e era mais experiente do que qualquer monte de músculos dos Carabinieri.
Gabriel foi à aldeia duas vezes nos dois dias, primeiro de manhã, para o pão e para o café, e depois à tarde, para um copo de vinho no café perto do jogo de boules. Em ambos os casos, viu a signadora a sair da igreja depois da missa. No primeiro dia, ela ignorou-o. Mas, no segundo, o rapaz dos cabelos encaracolados apareceu-lhe à frente da mesa, com mais um bilhete. Pelos vistos, o homem de quem Gabriel estava à espera iria chegar de ferry a Calvi no dia seguinte. Gabriel ligou a Don Orsati, que confirmou ser verdade.
— Como sabia? — perguntou o don.
— A macchia não tem olhos — respondeu Gabriel cripticamente, interrompendo a ligação.
Passou a manhã seguinte a dar os últimos retoques no plano que tinha concebido para encontrar o Caravaggio desaparecido. Depois, ao meio-dia, foi a pé até às três oliveiras antigas e soltou o bode de Don Casabianca, libertando-o da corda que o prendia. Uma hora mais tarde, viu um Renault amolgado com porta traseira a subir pelo vale numa nuvem de poeira. Quando o carro se aproximou das três oliveiras antigas, o bode velho pôs-se à frente dele, em ar de desafio. Ouviu-se o som de uma buzina e, pouco tempo depois, o vale ecoou com insultos grosseiros e ameaças de violência indescritível. Gabriel entrou na cozinha e abriu o Chablis. O Inglês tinha regressado à Córsega.
Não era todos os dias que se tinha oportunidade de apertar a mão a um morto, mas foi precisamente isso que aconteceu, dois minutos mais tarde, quando Christopher Keller entrou pela porta da villa. De acordo com os registos militares britânicos, tinha morrido em janeiro de 1991, durante a primeira Guerra do Golfo, quando o esquadrão Sabre dos Serviços Aéreos Especiais a que pertencia foi vítima de um ataque aéreo das forças da Coligação, num caso trágico de fogo amigo. Os pais, dois médicos respeitados da Harley Street, choraram a morte do filho herói em público, ainda que em privado tivessem dito um ao outro que tal nunca teria ocorrido se ele tivesse continuado em Cambridge em vez de desaparecer de um dia para o outro para se alistar no exército. Até hoje, continuavam sem saber que o filho tinha sido o único sobrevivente do ataque sofrido pelo esquadrão. Tal como não sabiam que, após sair do Iraque disfarçado de árabe, atravessara a Europa até à Córsega, onde tinha sido recebido de braços abertos por Don Anton Orsati. Gabriel perdoara Keller por em tempos o ter tentado matar. Mas não conseguia admitir que o Inglês tivesse deixado que os pais envelhecessem a pensar que o seu único filho morrera.
Keller estava com bom aspeto para um morto. Os seus olhos eram azuis e límpidos, o cabelo cortado à escovinha estava descolorado, praticamente branco, do mar e do sol, e tinha uma pele lisa e muito bronzeada. Vestia uma camisa formal branca, com o colarinho aberto, e um fato de executivo já gasto de tanto viajar. Quando tirou o casaco, deixou à vista o físico mortífero. Em Keller, desde os ombros poderosos aos antebraços musculados, tudo parecia ter sido expressamente concebido com o propósito de matar. Atirou o casaco para as costas de uma cadeira e olhou de soslaio para a pistola Tanfoglio que se encontrava em cima da mesinha de apoio, ao lado do dossiê Caravaggio do general.
— Isso é meu — disse ele, referindo-se à pistola.
— Agora já não é.
Keller aproximou-se da garrafa aberta de Chablis e serviu-se de um copo.
— Que tal foi a tua viagem? — perguntou Gabriel.
— Um êxito.
— Estava com medo que fosses dizer isso.
— É melhor do que a alternativa.
— Que tipo de trabalho foi?
— Fui entregar comida e medicamentos a viúvas e órfãos.
— Onde?
— Varsóvia.
— A minha cidade preferida.
— Meu Deus, mas que espelunca! E o tempo nesta altura do ano é ótimo.
— O que foste lá fazer realmente, Christopher?
— Tratar de um problema para um banqueiro privado suíço.
— Que género de problema?
— Um problema russo.
— E esse russo tinha nome?
— Chamemos-lhe Igor.
— E o Igor era bom rapaz?
— Nem de perto, nem de longe.
— Da mafiya?
— Até à medula.
— Imagino que o Igor da mafiya tenha confiado dinheiro ao banqueiro privado suíço.
— Imenso dinheiro — confirmou Keller. — Mas não estava contente com os juros que andava a ganhar com os investimentos. Disse ao banqueiro suíço para melhorar o desempenho. Caso contrário, ia matar o banqueiro, a mulher, os filhos e o cão.
— E o banqueiro suíço foi pedir ajuda ao Don Orsati.
— Que outra opção é que ele tinha?
— E o que aconteceu ao russo?
— Sofreu um percalço a seguir a uma reunião com um potencial parceiro de negócios. Não te vou maçar com os pormenores.
— E o dinheiro dele?
— Uma parte foi transferida para uma conta nas mãos da Orsati Olive Oil Company. O resto continua na Suíça. Sabes como são aqueles banqueiros suíços — acrescentou Keller. — Não gostam de se separar do dinheiro.
O Inglês sentou-se no sofá, abriu o dossiê Caravaggio do general e tirou de lá a fotografia da moldura vazia do Oratorio di San Lorenzo.
— Que pena — soltou, abanando a cabeça. — Aqueles sacanas sicilianos não respeitam nada.
— E o Don Orsati já te disse que tinha sido ele a descobrir que o quadro fora roubado?
— É capaz de ter mencionado isso uma noite, depois de o manancial de provérbios corsos se esgotar. É uma pena que ele não tenha aparecido no oratorio uns minutos mais cedo — acrescentou Keller. — Talvez conseguisse impedir que os ladrões roubassem o quadro.
— Ou talvez os ladrões o tivessem matado antes de abandonarem a igreja.
— Estás a subestimar o don.
— Nunca.
Keller voltou a pôr a fotografia no dossiê.
— E o que tem isto que ver comigo?
— Os Carabinieri contrataram-me para recuperar o quadro. Preciso da tua ajuda.
— Que tipo de ajuda?
— Nada de especial — respondeu Gabriel. — Só preciso que roubes uma obra-prima de valor inestimável e a vendas a um homem que já matou duas pessoas em menos de uma semana.
— Mais nada? — Keller sorriu. — Estava com medo que me fosses pedir para fazer uma coisa difícil.
Gabriel contou-lhe a história inteira, começando pela visita infeliz de Julian Isherwood ao lago Como e terminando na proposta pouco ortodoxa do general Ferrari para recuperar o quadro desaparecido mais cobiçado do mundo. Keller não se mexeu uma única vez, com os antebraços apoiados nos joelhos e as mãos cruzadas, como um penitente relutante. A capacidade que tinha para ficar completamente imóvel durante longos períodos de tempo chegava a enervar até mesmo Gabriel. Quando estava ao serviço do SAS na Irlanda do Norte, Keller tinha-se especializado em observações minuciosas, uma técnica de vigilância perigosa que o obrigara a passar várias semanas em esconderijos apertados como sótãos e palheiros. E também se tinha infiltrado no Exército Republicano Irlandês, fazendo passar-se por um católico de Belfast Ocidental, e era por isso que Gabriel estava convencido de que Keller podia desempenhar o papel de um ladrão de arte com um quadro roubado de que se queria desfazer. No entanto, o Inglês não tinha assim tanta certeza.
— Não é isso que eu faço — disse depois de Gabriel terminar a explicação. — Observo pessoas, mato pessoas, rebento com coisas. Mas não roubo quadros. E não os vendo no mercado negro.
— Se és capaz de te fazer passar por um católico das urbanizações de Ballymurphy, então também és capaz de te fazer passar por um mânfio de East London. Se a memória não me falha — acrescentou Gabriel —, tens bastante jeito para os sotaques.
— É verdade — reconheceu Keller. — Mas sei muito pouco de arte.
— Como a maioria dos ladrões. E é por isso que são ladrões em vez de curadores ou historiadores de arte. Mas não te preocupes, Keller. Vais ter-me a segredar-te ao ouvido.
— Nem imaginas como estou ansioso por isso.
Gabriel não disse nada.
— Então e os italianos? — perguntou Keller.
— O que têm?
— Sou um assassino profissional que, é sabido, já exerceu o ofício em território italiano em determinadas ocasiões. Não vou poder lá voltar se o teu amigo dos Carabinieri vier a descobrir que andei a colaborar contigo.
— O general nunca vai saber que estiveste envolvido nisto.
— Como podes ter a certeza?
— Porque ele não quer saber.
Keller não pareceu convencido. Acendeu um cigarro e soprou pensativamente uma nuvem de fumo para o teto.
— Tem mesmo de ser? — perguntou Gabriel.
— Isto ajuda-me a pensar.
— E a mim faz-me ter dificuldade em respirar.
— Tens a certeza de que és mesmo israelita?
— Pelos vistos, o don acha que sou um corso encapotado.
— Impossível —— retorquiu Keller. — Um corso nunca ia aceitar encontrar um quadro que anda desaparecido há mais de quarenta anos, muito menos para o raio de um italiano.
Gabriel entrou na cozinha, tirou um pires do armário e pousou-o à frente de Keller. O Inglês deu uma última baforada no cigarro e depois apagou-o, calcando-o.
— E quanto a dinheiro? — Gabriel falou a Keller da pasta com um milhão de euros que o general lhe tinha dado. — Um milhão não te vai levar longe.
— E tens por aí alguns trocos?
— Sou capaz de ter um dinheirito para as despesas que me sobrou do assassínio de Varsóvia.
— Quanto?
— Uns quinhentos ou seiscentos.
— Isso é muito generoso da tua parte, Christopher.
— Esse dinheiro é meu.
— O que são quinhentos ou seiscentos euros entre amigos?
— Imenso dinheiro.
Keller soltou um longo suspiro.
— Continuo sem ter a certeza se vou ser capaz de me safar com isto.
— Safar com o quê?
— Fingir que sou ladrão de arte.
— Matas pessoas a troco de dinheiro — respondeu Gabriel. — Não me parece que vá ser muito difícil.
Vestir Christopher Keller de modo que desempenhasse o papel de um ladrão de arte internacional revelou-se a parte mais fácil da preparação dele, pois no guarda-fatos da villa havia uma vasta seleção de roupa perfeita para qualquer ocasião ou assassínio. Havia o Keller boémio errante, o Keller da elite do jet set e o Keller amante do ar livre e montanhista. E havia até o Keller padre católico apostólico romano, que incluía um breviário e um conjunto de viagem para celebrar missas. Gabriel acabou por escolher o género de roupa que Keller vestia habitualmente — camisas formais brancas, fatos escuros feitos por medida e mocassins elegantes. Para servir de acessório à imagem do Inglês, optou por vários fios e pulseiras de ouro, um vistoso relógio suíço, óculos com lentes azuis e uma cabeleira loira com uma abundante madeixa sobre a testa. Keller juntou o próprio passaporte britânico falso e os cartões de crédito em nome de Peter Rutledge. Gabriel achou que soava um bocadinho de mais à classe alta para um criminoso do East End, mas não importava. No mundo da arte, ninguém iria chegar a saber o nome do ladrão.
Reuniram-se no exíguo escritório dos fundos das Antiquités Scientifiques, às onze horas da manhã seguinte: o ladrão de arte, o assassino profissional e o antigo e futuro agente dos serviços secretos israelitas. O agente explicou rapidamente ao ladrão de arte como tencionava encontrar o retábulo de Caravaggio há muito desaparecido. Tal como já tinha acontecido com o assassino, o ladrão ficou, no mínimo, desconfiado.
— Eu roubo quadros — realçou, num tom de voz cansado. — Não os encontro por conta da polícia. Aliás, faço todos os possíveis para evitar a polícia por completo.
— Os italianos nunca vão saber que esteve envolvido nisto.
— Isso é o que você diz.
— É preciso recordar-lhe que o homem que adquiriu o Caravaggio matou o seu amigo e sócio?
— Não, Monsieur Allon, não é preciso.
O intercomunicador berrou. Maurice Durand ignorou-o.
— E o que ia precisar que eu fizesse?
— Precisava que me roubasse uma coisa a que nenhum colecionador sem escrúpulos possa resistir.
— E depois?
— Quando as profundezas do mundo da arte começarem a encher-se de rumores de que esse quadro está em Paris, preciso que indique o caminho certo aos abutres.
Durand olhou para Keller.
— Em direção a ele?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— E porque vão os abutres achar que o quadro está em Paris?
— Porque eu lhes vou dizer que está.
— Pensa mesmo em tudo, não é, Monsieur Allon?
— A melhor maneira de ganhar num jogo de probabilidades é retirar as probabilidades da equação.
— Vou tentar não me esquecer disso.
Durand olhou outra vez para Keller e perguntou:
— O que sabe ele do negócio de arte roubada?
— Nada — admitiu Gabriel. — Mas aprende depressa.
— E como ganha a vida?
— Toma conta de viúvas e órfãos.
— Pois — respondeu Durand ceticamente. — E eu sou o presidente da França.
Passaram o resto do dia a definir os pormenores da operação. Quando a noite caiu sobre o oitavo arrondissement, Monsieur Durand mudou o letreiro de OUVERT para FERMÉ e saíram em fila indiana para a Rue de Miromesnil. O ladrão de arte dirigiu-se para a brasserie em frente, para o copo de vinho tinto que bebia todas as noites, o assassino apanhou um táxi para um hotel na Rue de Rivoli e o antigo e futuro agente dos serviços secretos israelitas foi a pé para um apartamento seguro do Departamento, com vista para a Pont Marie. Viu dois agentes dos serviços de segurança dentro de um carro estacionado à entrada do prédio; e quando entrou no apartamento, sentiu o aroma a comida e ouviu Chiara a cantar baixinho sozinha. Beijou-a nos lábios e levou-a para o quarto. Não lhe perguntou como se sentia. Não lhe perguntou absolutamente nada.
— Tens noção — disse ela mais tarde — que foi a primeira vez que fizemos amor desde que descobri que estava grávida?
— Foi?
— Quando uma pessoa com a tua inteligência se arma em parva, isso não é lá muito eficaz, Gabriel.
Ele enrolou-lhe uma madeixa do cabelo na ponta do dedo, mas não disse nada. Ela tinha o queixo apoiado no esterno dele. O brilho dos candeeiros de Paris conferia-lhe um tom dourado à pele.
— Porque só fizeste amor comigo agora? E não me digas que tens andado ocupado — acrescentou rapidamente —, porque isso nunca te impediu. — Ele soltou-lhe o cabelo, mas não respondeu. — Estavas com medo que pudesse acontecer qualquer coisa e a gravidez corresse outra vez mal? Foi por isso?
— Sim — respondeu ele —, imagino que tenha sido.
— E o que te fez mudar de ideias?
— Passei uns momentos com uma velha na ilha da Córsega.
— E o que te disse ela?
— Que não te ia acontecer nada a ti nem às crianças.
— E acreditaste?
— Ela primeiro pôs-se a aquecer dizendo-me várias coisas que não podia minimamente saber. E depois disse-me que já não estavas em Veneza.
— E contou-te que eu estava em Paris?
— Com todas as letras, não.
— Estava a contar surpreender-te.
— E como sabias onde eu estava?
— O que achas?
— Ligaste para a Avenida Rei Saul.
— Por acaso, ligaram-me da Avenida Rei Saul.
— Porquê?
— Porque o Uzi queria saber por que razão andavas metido com um tipo como o Maurice Durand. Obviamente, aproveitei logo a oportunidade.
— E como te escapaste ao guarda-costas do general?
— Ao Matteo? Não custou nada.
— Não fazia ideia de que vocês se tratavam pelo nome próprio.
— Ajudou-me muito enquanto estiveste longe. E não me perguntou uma única vez como é que eu me sentia.
— Não vou voltar a cometer esse erro.
Chiara beijou Gabriel nos lábios e perguntou-lhe por que razão tinha renovado a relação com o ladrão de arte mais bem-sucedido do mundo. Gabriel contou-lhe tudo.
— Agora percebo por que motivo o general Ferrari estava tão ansioso por te ter a investigar a morte do Bradshaw.
— Ele sempre soube que o Bradshaw era corrupto — retorquiu Gabriel. — E também já tinha ouvido rumores de que as impressões digitais do tipo estavam no Caravaggio.
— Se calhar, isso é capaz de explicar uma coisa estranha que descobri nos registos de faturação da Meridian Global Consulting Group.
— E o que foi?
— Nos últimos doze meses, a Meridian trabalhou imenso para uma coisa chamada LXR Investments of Luxembourg.
— E o que é isso?
— É difícil dizer. A LXR é, no mínimo, uma empresa bastante opaca.
Gabriel agarrou noutra madeixa do cabelo de Chiara e perguntou-lhe que mais tinha descoberto nos despojos eletrónicos de Jack Bradshaw.
— Nas últimas semanas antes de morrer, ele enviou vários e-mails para uma conta do Gmail com um nome de utilizador criado automaticamente.
— E de que falaram?
— De casamentos, de festas, do tempo… das coisas todas habituais de que as pessoas falam quando estão a falar na verdade de outra coisa.
— E tens ideia de onde é que esse amigo por correspondência escreve?
— De cibercafés em Bruxelas, Antuérpia e Amesterdão.
— Pois claro.
Chiara virou-se de barriga para cima. Gabriel pousou-lhe a mão no abdómen. A chuva tamborilava suavemente na janela.
— Em que estás a pensar? — perguntou ela passado um momento.
— Estava a pensar se era mesmo verdade ou se não passava da minha imaginação.
— O quê?
— Não tem importância.
Ela não insistiu.
— Suponho que vou ter de dizer qualquer coisa ao Uzi — avançou Chiara.
— Suponho que sim.
— E o que lhe digo?
— A verdade — respondeu Gabriel. — Diz-lhe que eu vou roubar um quadro que vale duzentos milhões de dólares e ver se o consigo vender ao Senhor Peixe Graúdo.
— Qual é o teu próximo passo?
— Tenho de ir a Londres espalhar um rumor desagradável.
— E a seguir?
— Vou para Marselha concretizar esse rumor desagradável.
Na manhã seguinte, Gabriel telefonou para a Isherwood Fine Arts enquanto atravessava Leicester Square. Pediu para se encontrar com Isherwood fora da galeria e longe dos botecos habituais do mundo da arte em St. James’s. Isherwood propôs o Lido Café Bar, no Hyde Park. Ninguém do mundo da arte, explicou, poria os pés lá.
Chegou uns minutos depois da uma, com roupa para andar no campo: um casaco de tweed e sapatos impermeáveis. Parecia bem menos ressacado do que costumava ao início da tarde.
— Longe de mim estar a querer protestar — disse Gabriel ao apertar a mão a Isherwood —, mas a tua secretária deixou-me praticamente dez minutos pendurado e só depois me pôs a falar contigo.
— Então até tiveste sorte.
— Quando é que a despedes, Julian?
— Não posso.
— Porquê?
— É possível que ainda esteja apaixonado por ela.
— Ela maltrata-te.
— Eu sei — respondeu Isherwood, sorrindo. — Se ao menos andássemos a dormir um com o outro. Assim seria perfeito.
Sentaram-se a uma mesa com vista para a Serpentine Gallery. Isherwood fez uma careta quando olhou para a ementa.
— Não é bem o Wiltons, pois não?
— Não te vai matar, Julian.
Isherwood não pareceu convencido. Pediu uma sanduíche de gambas e um copo de vinho branco para a tensão. Gabriel pediu chá e um scone. Quando ficaram outra vez a sós, contou a Isherwood tudo o que se tinha passado desde que saíra de Veneza. E depois contou-lhe o que planeava fazer a seguir.
— Mas que maroto — disse Isherwood baixinho. — Mas que grande maroto.
— A ideia foi do general.
— O tipo é um sacana retorcido, não é?
— Por isso é que é tão bom a fazer o que faz.
— E tem mesmo de ser. Mas, como diretor do Comité para a Proteção da Arte — acrescentou Isherwood, num tom formal —, seria negligente da minha parte não objetar contra um aspeto da vossa operação bastante inteligente.
— Não há outra maneira, Julian.
— E se o quadro ficar danificado durante o roubo?
— Tenho a certeza de que sou capaz de arranjar quem o restaure.
— Não te armes em despreocupado. Não te fica bem.
Um silêncio pesado instalou-se entre ambos.
— Vai valer a pena se eu conseguir recuperar aquele Caravaggio — disse Gabriel por fim.
— Se — retorquiu Isherwood ceticamente.
Soltou um suspiro profundo.
— Desculpa ter-te metido no meio disto tudo. E só de pensar que nada disto tinha acontecido se não fosse o raio do Oliver Dimbleby.
— Por acaso, até engendrei uma maneira de o Oliver expiar os pecados.
— Não estás a pensar arranjar forma de te servir dele, pois não?
Gabriel assentiu lentamente com a cabeça.
— Mas, desta vez, o Oliver nem vai perceber.
— Bem jogado — respondeu Isherwood. — Porque o Oliver Dimbleby tem uma das maiores bocas de todo o mundo da arte.
— Exato.
— E em que estás a pensar?
Gabriel contou-lhe. Isherwood fez um sorriso malicioso.
— Mas que maroto — disse. — Mas que grande maroto.
Quando terminaram de almoçar, Gabriel já tinha conseguido convencer Isherwood da eficácia do plano. Ultimaram os pormenores que faltavam enquanto atravessavam o Hyde Park e depois cada um seguiu o seu caminho pelas ruas movimentadas de Piccadilly. Isherwood voltou para a galeria, em Mason’s Yard; Gabriel dirigiu-se para a estação de St. Pancras, onde apanhou um Eurostar que saía ao final da tarde para Paris. À noite, no apartamento seguro com vista para a Pont Marie, fez amor com Chiara pela segunda vez desde que tinha sabido que ela estava grávida dos filhos dele.
De manhã, tomaram o pequeno-almoço num café perto do Louvre. A seguir, depois de acompanhar Chiara até ao apartamento seguro, apanhou um táxi para a Gare de Lyon. Embarcou às nove num comboio com destino a Marselha e, às 12h45, estava a descer as escadas da Gare Saint-Charles. Foi parar ao início do Boulevard d’Athènes, que seguiu até La Canebière, a ampla rua comercial que ia do centro da cidade até ao Velho Porto. Os barcos de pesca tinham regressado dos trajetos matinais; havia criaturas marinhas de toda a espécie espalhadas sobre mesas de metal, ao longo do lado leste do porto. Atrás de uma delas, encontrava-se um homem de cabelo grisalho, com uma camisola de lã esfarrapada e um avental de borracha. Gabriel parou por breves instantes para inspecionar o que o homem tinha apanhado. Depois foi até à esquina da ponta sul do porto e entrou para o lugar do passageiro de um Renault amolgado. Sentado ao volante, com uma beata a arder-lhe entre as pontas dos dedos, estava Christopher Keller.
— Tem mesmo de ser? — perguntou Gabriel, com aborrecimento.
Keller apagou o cigarro, calcando-o, e acendeu outro de imediato.
— Mal posso crer que estamos outra vez aqui.
— Onde?
— Em Marselha — respondeu Keller. — Foi aqui que começámos a procurar a rapariga inglesa.
— E foi aqui que mataste uma pessoa escusadamente — acrescentou Gabriel num tom soturno.
— Não vamos entrar outra vez em litígio por causa desse assunto.
— Isso é uma palavra bastante cara para um ladrão de arte, Christopher.
— Não achas que é uma coincidência estarmos sentados no mesmo carro, do mesmo lado do Velho Porto?
— Não.
— Então porquê?
— Porque é em Marselha que os criminosos estão.
— Como ele.
Keller indicou com a cabeça o homem da camisola de lã esfarrapada que estava atrás da mesa com peixe, na ponta do porto.
— Conhece-lo?
— Toda a gente do ramo conhece o Pascal Rameau. Ele e o respetivo bando são os melhores ladrões da Côte d’Azur. Roubam tudo. Correu o rumor de que uma vez tentaram roubar a Torre Eiffel.
— E o que aconteceu?
— O comprador voltou atrás; pelo menos, é assim que o Pascal gosta de contar a história.
— Já lidaste alguma vez com ele?
— Ele não precisa de gente como eu.
— Ou seja?
— O Pascal tem tudo muito bem na mão.
Keller exalou uma nuvem de fumo de cigarro.
— Então o Maurice faz uma encomenda e o Pascal entrega a mercadoria, é assim que funciona?
— Tal e qual a Amazon.
— O que é a Amazon?
— Tens de sair um bocadinho mais do teu vale, Christopher. O mundo mudou desde que morreste.
Keller ficou calado. Gabriel desviou o olhar de Pascal Rameau para o bairro acidentado de Marselha próximo da basílica. Passaram-lhe repentinamente imagens do passado pela cabeça: a porta de um imponente prédio de apartamentos no Boulevard Saint-Rémy, um homem a atravessar depressa as sombras frescas da manhã, uma rapariga árabe de olhos castanhos e impiedosos parada no cimo de umas escadas de pedra. Peço desculpa, monsieur. Perdeu-se? Piscou os olhos para afastar essas recordações e enfiou a mão no bolso do casaco para tirar de lá o telemóvel, mas deteve-se. Estava uma equipa de segurança à entrada do apartamento seguro em Paris. Não lhe ia acontecer nada.
— Passa-se alguma coisa? — perguntou Keller.
— Não — respondeu Gabriel. — Está tudo bem.
— Tens a certeza?
Gabriel pôs-se a olhar novamente para Pascal Rameau. Keller sorriu.
— É um bocadinho estranho, não achas?
— O quê?
— Que um homem como tu possa estar associado a um ladrão de arte.
— Ou a um assassino profissional — acrescentou Gabriel.
— E o que quer isso dizer?
— Quer dizer que a vida é complicada, Christopher.
— A quem o dizes.
Keller calcou o cigarro e começou a acender outro.
— Por favor — disse Gabriel baixinho.
Keller voltou a enfiar o cigarro no maço com o dedo.
— Quanto tempo ainda vamos ter de esperar?
Gabriel olhou para o relógio.
— Vinte e oito minutos.
— Como podes ser assim tão exato?
— Porque o comboio dele chega a Saint-Charles à uma e trinta e quatro. E ele vai demorar doze minutos a andar da estação até ao porto.
— E se parar pelo caminho?
— Não para — respondeu Gabriel. — Monsieur Durand é muito certinho.
— Se é assim tão certinho, então porque estamos outra vez em Marselha?
— Porque ele anda com um milhão de euros que pertence aos Carabinieri e quero ter a certeza de que o dinheiro vai parar ao sítio certo.
— Ao bolso do Pascal Rameau. — Gabriel não disse nada. — É um bocadinho estranho, não achas?
— A vida é complicada, Christopher.
Keller acendeu um cigarro.
— A quem o dizes.
Eram 13h45 quando o viram a descer a encosta de La Canebière, o que queria dizer que estava adiantado um minuto em relação ao previsto. Trazia um fato de burel antracite e um elegante chapéu de veludo com uma fita e segurava na mão direita uma pasta com um milhão de euros em notas lá dentro. Aproximou-se dos pescadores e foi percorrendo as mesas devagar até se encontrar diante de Pascal Rameau. Houve uma troca de palavras, seguida de um exame diligente aos produtos para aquilatar da frescura destes, e, por fim, chegou-se a uma escolha. Durand entregou uma única nota, agarrou num saco de plástico cheio de lulas e seguiu para o lado sul do porto. Um instante depois, passou por Gabriel e Keller sem olhar sequer para eles.
— E para onde vai ele agora?
— Para um barco chamado Mistral.
— E de quem é o barco?
— Do René Monjean.
Keller arqueou a sobrancelha.
— E como conheces o Monjean?
— Isso é uma outra história para uma outra altura.
Naquele momento, Durand já estava a avançar por uma doca flutuante, no meio das várias filas de barcos de recreio brancos. Tal como Gabriel previra, subiu a bordo de um iate a motor chamado Mistral e enfiou-se no camarote. Esteve lá dentro dezassete minutos exatos e quando saiu já não trazia a pasta nem as lulas. Passou pelo Renault amolgado de Keller e começou a fazer o percurso para a estação de comboios.
— Parabéns, Christopher.
— Pelo quê?
— És neste momento o orgulhoso proprietário de uma obra-prima do Van Gogh que vale duzentos milhões de dólares.
— Ainda não.
— O Maurice Durand é muito certinho — respondeu Gabriel. — E o René Monjean também.
Ao longo dos nove dias que se seguiram, o mundo da arte foi girando sem problemas sobre o seu eixo dourado, ditosamente sem consciência da bomba-relógio que fazia tiquetaque no seu seio. Almoçou bem, bebeu até altas horas da noite, deslizou sem preocupações pelas pistas de Aspen e de St. Moritz, aproveitando a última neve boa da época. E foi então que, na terceira sexta-feira de abril, acordou com a notícia de que uma calamidade tinha atingido o Rijksmuseum Vincent van Gogh, em Amesterdão. Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, desaparecera.
A técnica utilizada pelos ladrões não fez justiça à beleza sublime do alvo. Preferiram o cacete em vez do florete, a rapidez em vez da furtividade. Mais tarde, o chefe do departamento da polícia de Amesterdão chamar-lhe-ia o melhor exemplo de «roubo-relâmpago» que já tinha visto, embora tivesse o cuidado de não revelar demasiados pormenores, para não correr o risco de estar a facilitar a vida ao próximo bando de ladrões que quisesse surripiar outra obra de arte icónica e insubstituível. Só dava graças por uma coisa: os ladrões não tinham utilizado uma navalha para retirar a tela da moldura. Aliás, explicou, tinham tratado o quadro com uma ternura que raiava a reverência. No entanto, vários especialistas no campo da proteção de arte viram um sinal preocupante nesse tratamento cuidadoso da tela. Para eles, deixava entender que tinha sido um roubo encomendado e executado por criminosos profissionais altamente competentes. Um detetive de arte reformado da Scotland Yard mostrou-se cético em relação às perspetivas de o quadro ser recuperado com êxito. Com toda a probabilidade, afirmou, os Girassóis estavam agora expostos no museu das obras desaparecidas e o público nunca mais os voltaria a ver.
O diretor-geral do Rijksmuseum fez uma declaração aos meios de comunicação, no sentido de suplicar que o quadro fosse devolvido são e salvo. E quando tal não surtiu efeito nos ladrões, ofereceu uma recompensa substancial, obrigando a polícia holandesa a desperdiçar inúmeras horas atrás de embustes e pistas falsas. O presidente da câmara de Amesterdão, um radical empedernido, achou que era necessária uma manifestação. Passados três dias, várias centenas de ativistas de toda a espécie convergiram para a Museumplein a fim de exigir que os ladrões devolvessem o quadro sem danos. E também exortaram ao tratamento ético dos animais, ao fim do aquecimento global, à legalização de todos os estupefacientes recreativos, ao encerramento do centro de detenções americano de Guantánamo Bay e ao fim da ocupação da Margem Ocidental e da Faixa de Gaza. Ninguém foi preso e toda a gente se divertiu, sobretudo os que tiraram proveito da canábis e dos preservativos gratuitos. Até os jornais holandeses mais liberais acharam que a manifestação tinha sido inútil. «Se isto é o melhor que conseguimos fazer», escreveu-se num editorial, «então devíamos preparar-nos para o dia em que as paredes dos nossos melhores museus estejam vazias.»
Contudo, nos bastidores, a polícia holandesa encontrava-se envolvida numa tentativa bastante mais tradicional para recuperar aquela que era, possivelmente, a obra mais famosa de Van Gogh. Falaram com os bufos, puseram os telefones sob escuta e vigiaram os endereços de e-mail de conhecidos ladrões e vigiaram as galerias de Amesterdão e Roterdão suspeitas de negociarem mercadoria roubada. Mas quando passou mais uma semana sem haver progressos, decidiram abrir um canal para os congéneres das forças policiais europeias. Os belgas puseram-nos numa caça aos gambozinos que só terminou em Lisboa, ao passo que os franceses pouco mais fizeram do que desejar-lhes boa sorte. A pista mais intrigante de origem estrangeira veio do general Cesare Ferrari, da Brigada de Arte, que afirmou ter ouvido o rumor de que a mafiya russa orquestrara o roubo. Os holandeses solicitaram informações ao Kremlin. Os russos não se deram ao trabalho de responder.
Por essa altura, já era início de maio e a polícia holandesa não possuía uma única pista substancial acerca do paradeiro do quadro. Publicamente, o chefe prometeu redobrar esforços. Em privado, reconheceu que, salvo intervenção divina, o mais provável era o Van Gogh se ter perdido para sempre. No interior do museu, tinham pendurado um pano preto no lugar do quadro. Um colunista britânico implorou com sarcasmo ao diretor do museu para reforçar a segurança. Caso contrário, disse espirituosamente, os ladrões também iriam roubar o pano.
Em Londres, houve quem achasse que essa coluna tinha sido de mau gosto, mas o mundo da arte encolheu maioritariamente os ombros e seguiu em frente. Os importantes leilões dos Velhos Mestres aproximavam-se a toda a velocidade e tudo indicava que essa temporada iria ser a mais lucrativa em muitos anos. Havia quadros para ver, clientes para entreter e estratégias de licitação para congeminar. Julian Isherwood não parava quieto. Nessa quarta-feira, foi visto na sala de vendas da Bonhams, agarrado a uma paisagem de um rio em estilo italiano atribuída ao círculo de Agostino Buonamico. No dia seguinte, estava a almoçar profusamente no Dorchester, com um turco expatriado e de fundos aparentemente ilimitados. Depois, na sexta-feira, ficou até tarde na Christie’s para cumprir as diligências devidas em relação a um São João Baptista do século XVIII, da Escola Bolonhesa. Por isso mesmo, o balcão do Green’s já estava completamente cheio quando lá chegou. Parou por uns instantes para dar uma palavrinha em privado a Jeremy Crabbe e depois instalou-se na mesa habitual, com a garrafa de Sancerre habitual. O barrigudo Oliver Dimbleby estava a meter-se descaradamente com Amanda Clifton, a nova e apetitosa diretora do departamento de Arte Impressionista e Moderna da Sotheby’s. Enfiou-lhe na mão um dos seus cartões de visita dourados, soprou um beijo na direção de Simon Mendenhall e dirigiu-se para a mesa de Isherwood.
— Meu querido Julie — disse ao mesmo tempo que se deixava cair na cadeira desocupada —, conta-me qualquer coisa absolutamente escandalosa. Um rumor maroto. Um mexericozinho malicioso. Qualquer coisa que me dê direito a ir jantar fora durante o resto da semana.
Isherwood sorriu, despejou um pouco de vinho no copo vazio de Oliver e começou a fazer-lhe ganhar a noite.
— Paris? A sério?
Isherwood assentiu com a cabeça de modo conspiratório.
— E quem disse isso?
— Não posso mesmo dizer.
— Então, querido? Estás a falar comigo. Tenho mais segredos sujos do que o MI6.
— E é por isso que não te vou dizer nem mais uma palavra sobre o assunto.
Dimbleby pareceu verdadeiramente ofendido, coisa que, até àquele momento, Isherwood julgara impossível.
— A minha fonte está ligada à cena da arte parisiense. Não posso revelar mais do que isso.
— Bom, já é de facto uma revelação. Pensava que me ias dizer que era subchefe de cozinha no Maxim’s.
Isherwood ficou calado.
— E está dentro do ramo ou é consumidor de arte?
— Dentro do ramo.
— Negociante?
— Usa a imaginação.
— E viu mesmo o Van Gogh?
— A minha fonte nunca ia pôr os pés numa sala onde estivesse um quadro roubado — respondeu Isherwood, com a dose perfeita de ironia moralista na voz. — Mas recebeu informações fidedignas de que vários negociantes e colecionadores de má fama já viram polaroides.
— Não sabiam que ainda existiam.
— O quê?
— Polaroides.
— Pelos vistos, ainda.
— E porque utilizaram uma polaroide?
— Não deixam nenhuma pegada digital que a polícia possa localizar.
— É bom saber isso — respondeu Dimbleby, olhando de soslaio para o traseiro de Amanda Clifton. — E quem está a vendê-lo?
— De acordo com o que se ouve por aí, é um inglês sem nome.
— Um inglês? Mas que canalha.
— Chocante — concordou Isherwood.
— E quanto está ele a pedir?
— Dez milhões.
— Por um raio de um Van Gogh? Isso é uma pechincha.
— Exato.
— Não se vai aguentar muito tempo, a um preço desses. Há de aparecer alguém que o vai abocanhar e guardar a sete chaves para sempre.
— Por acaso, a minha fonte até acha que o inglês pode estar a braços com uma luta entre pretendentes.
— E é por isso — disse Dimbleby, num tom repentinamente sério — que não tens outra escolha senão ir à polícia.
— Não posso.
— Então porquê?
— Porque tenho de proteger a minha fonte.
— Estás profissionalmente obrigado a dizer à polícia. E moralmente também.
— Adoro quando me dás lições sobre moralidade, Oliver.
— Não é preciso levarmos as coisas para o campo pessoal, Julie. Só estava a tentar fazer-te um favor.
— Como quando me arranjaste uma viagem com as despesas todas pagas para o lago Como?
— Vamos ter outra vez a mesma conversa?
— Ainda tenho pesadelos com o corpo dele pendurado no raio daquele candelabro. Parecia uma coisa pintada pelo…
A voz de Isherwood sumiu-se. Dimbleby franziu o sobrolho pensativamente.
— Por quem?
— Não interessa.
— E chegaram a descobrir quem o matou?
— A quem?
— Ao Jack Bradshaw, meu parvalhão.
— Penso que terá sido o mordomo.
Dimbleby sorriu.
— Mas não te esqueças, Oliver, tudo o que eu te disse acerca de o Van Gogh estar em Paris fica entre nous.
— A minha boca é um túmulo.
— Jura-me, Oliver.
— Dou-te a minha palavra de honra — respondeu Dimbleby.
A seguir, depois de terminar a bebida, contou a toda a gente que ali estava.
No dia seguinte, à hora de almoço, não se falava de outra coisa no Wilton’s. E dali o burburinho deslocou-se para a National Gallery, depois para a Tate e, por fim, para a Courtauld Gallery, que ainda estava a lamber as feridas provocadas pelo roubo do Autorretrato com Orelha Cortada de Van Gogh. Na Christie’s, Simon Mendenhall contou a toda a gente; na Sotheby’s, Amanda Clifton fez o mesmo. Até o normalmente taciturno Jeremy Crabbe não foi capaz de ficar calado. Pôs tudo num e-mail tagarela que enviou para uma pessoa do escritório nova-iorquino da Bonhams e, passado pouco tempo, a coisa já andava circular pelas galerias de Midtown e do Upper East Side. Nicholas Lovegrove, consultor de arte ao serviço dos extremamente ricos, segredou-a ao ouvido de uma repórter do New York Times, mas a repórter já tinha ouvido isso de outra pessoa. Ligou ao chefe da polícia holandesa, que também já tinha ouvido o mesmo.
O holandês telefonou para o homólogo parisiense, que não levou aquilo muito a sério. Ainda assim, a polícia francesa começou a procurar um inglês acabado de entrar na meia-idade, bem constituído, loiro, de óculos com lentes azuis e um ligeiro sotaque cockney. Encontrou vários, embora nenhum fosse afinal ladrão de arte. Entre os que foram apanhados nessa operação, encontrava-se o sobrinho do ministro do Interior britânico, que tinha um sotaque londrino snobe, mas não propriamente cockney. O ministro do Interior ligou ao homólogo francês a protestar e o sobrinho foi libertado discretamente.
No entanto, havia um aspeto desse rumor que era inapelavelmente verdade: Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, estava realmente em Paris. Tinha lá chegado na manhã seguinte a ter desaparecido, dentro da bagageira de um grande Mercedes. Primeiro foi para as Antiquités Scientifiques, onde, enrolado em papel vegetal para o proteger, passou duas noites descansadas num armário com temperatura controlada. A seguir, foi levado em mão para o apartamento seguro do Departamento com vista para a Pont Marie. Gabriel instalou rapidamente o quadro num novo suporte e pô-lo em cima de um cavalete, no estúdio improvisado que tinha preparado no quarto vago. Nessa noite, enquanto Chiara cozinhava, fechou a porta com fita adesiva para impedir que a superfície ficasse contaminada. E quando foram dormir, o quadro foi dormir com eles, banhado pelo brilho amarelo dos candeeiros ao longo do Sena.
De manhã, Gabriel foi a uma pequena galeria perto dos Jardins do Luxemburgo, onde, fazendo-se passar por alemão, comprou um quadro de uma rua parisiense da autoria de um impressionista de terceira categoria que utilizava o mesmo tipo de tela que Van Gogh. Quando regressou ao apartamento, removeu o quadro recorrendo a uma mistura de solvente poderosa e, a seguir, tirou a tela do suporte. Após cortar a tela até às dimensões adequadas, pô-la no mesmo género de suporte em que pusera os Girassóis, um suporte que media 95 centímetros por 73 centímetros. Depois aplicou um novo fundo na tela. Passadas doze horas, já com o fundo seco, preparou a paleta com amarelo de cromo e ocre amarelo e começou a pintar.
Trabalhou como Van Gogh trabalharia, velozmente, alla prima, e com um toque de loucura. Por vezes, sentiu que tinha Van Gogh a espreitar-lhe sobre o ombro, de cachimbo na mão, a guiar-lhe cada pincelada. Noutras, conseguia vê-lo no estúdio da Casa Amarela de Arles, apressando-se para captar a beleza dos girassóis na tela antes que estes murchassem e morressem. Foi em agosto de 1888 que Van Gogh produziu os seus primeiros estudos de girassóis em Arles; pendurou-os no andar de cima, no quarto vago onde Paul Gauguin, com muitas dúvidas, se instalaria em finais de outubro. O dominador Gauguin e o suplicante Vincent pintaram juntos durante o resto do outono, trabalhando muitas vezes lado a lado nos campos em redor de Arles, mas eram propensos a discussões violentas sobre Deus e arte. Uma delas ocorreu na tarde de 23 de dezembro. Após confrontar Gauguin com uma navalha, Vincent tinha ido ao bordel da Rue du Bout d’Aeles e cortara uma parte da orelha esquerda. Duas semanas mais tarde, depois de ter tido alta do hospital, voltou para a Casa Amarela, sozinho e com a orelha ligada, e produziu três repetições estarrecedoras dos girassóis que tinha pintado para o quarto de Gauguin. Ainda não há muito tempo, um desses quadros estivera exposto no Rijksmuseum Vincent van Gogh, em Amesterdão.
Provavelmente, Van Gogh tinha pintado os Girassóis de Amesterdão numa questão de horas, tal como pintara os antecessores no mês de agosto do ano anterior. Contudo, Gabriel precisou de três dias para produzir aquilo a que chamaria mais tarde a versão de Paris. Com a inclusão da característica assinatura de Van Gogh no vaso, a falsificação era idêntica ao original em todos os pormenores menos um: não apresentava falhas, a fina rede de rachas que aparece na superfície dos quadros com o tempo. Para que surgissem falhas rapidamente, Gabriel tirou a tela do suporte e enfiou-a num forno aquecido a 175 graus durante trinta minutos. A seguir, depois de a tela esfriar, esticou-a bem com as duas mãos e arrastou-a por cima da borda da mesa da sala de jantar, primeiro na horizontal e depois verticalmente. E com isso surgiram de imediato falhas. Voltou a instalar a tela no suporte, aplicou-lhe uma camada de verniz e deixou-a ao lado da original. Chiara não foi capaz de as distinguir. Nem Maurice Durand.
— Nunca imaginei que fosse possível — disse o francês.
— O quê?
— Que houvesse alguém tão bom como o Yves Morel.
Passou delicadamente com o dedo pelas pinceladas impasto de Gabriel.
— É como se o próprio Van Gogh o tivesse pintado.
— O objetivo é esse, Maurice.
— Mas não é assim tão fácil de alcançar, mesmo para um restaurador profissional.
— Que técnica utilizou para produzir as falhas?
Gabriel explicou-lhe.
— O método do Van Meegeren. Muito eficaz, desde que não se queime o quadro.
Durand desviou o olhar da falsificação de Gabriel para o original de Van Gogh.
— Não se ponha com ideias, Maurice. Isso vai voltar para Amesterdão mal deixemos de precisar dele.
— E sabe quanto é que eu era capaz de conseguir por ele?
— Dez milhões.
— Vinte, no mínimo.
— Mas não o roubou, Maurice. Foi roubado por um inglês loiro e de óculos com lentes azuis.
— Um conhecido meu acha que até já esteve com ele.
— Espero que não o tenha convencido que isso não é verdade.
— Nem pensar — respondeu Durand. — O submundo do ramo acha que o seu amigo tem o quadro e que já começou a negociar com vários compradores potenciais. Não vai demorar muito até que você-sabe-quem entre na luta.
— Se calhar, ele precisa de um bocadinho de encorajamento.
— De que tipo?
— Um aviso atempado antes que a licitação termine. Acha que consegue fazer isso, Maurice?
— Com um único telefonema.
Havia um aspeto do caso que andava a atormentar Gabriel desde o início: as salas secretas de Jack Bradshaw no Freeport de Genebra. Em regra, um empresário recorria aos serviços únicos do Freeport por querer evitar ser tributado ou por estar a esconder qualquer coisa. Gabriel desconfiava que as razões de Bradshaw se inserissem na segunda categoria. Mas como entrar lá dentro sem um mandado judicial nem a companhia da polícia? O Freeport não era o género de lugar que se pudesse arrombar com uma gazua e um sorriso confiante. Gabriel iria precisar de um aliado, de uma pessoa com poder para abrir discretamente qualquer porta na Suíça. E conhecia um homem assim. Teriam de chegar a um acordo, fazer uma combinação secreta. Seria complicado, mas a verdade é que as questões relacionadas com a Suíça o eram normalmente.
O contacto inicial foi breve e pouco prometedor. Gabriel telefonou para o escritório do homem, em Berna, e explicou-lhe de forma bastante incompleta do que precisava e porquê. Compreensivelmente, o homem de Berna não ficou muito impressionado, embora parecesse intrigado.
— E onde estás agora? — perguntou.
— Na Sibéria.
— E quando consegues estar em Genebra?
— Posso apanhar o próximo comboio.
— Não sabia que havia comboios da Sibéria para Genebra.
— Por acaso, passa por Paris.
— Dá sinal quando chegares. Vou ver o que posso fazer.
— Não me vou pôr a fazer uma viagem até Genebra sem ter garantias.
— Se queres garantias, telefona a um banqueiro suíço. Mas se queres dar uma olhadela ao que há naquelas salas, vais ter de fazer as coisas à minha maneira. E nem penses em aproximar-te sequer do Freeport sem mim — acrescentou o homem de Berna. — Se fizeres isso, vais passar muitíssimo tempo na Suíça.
Gabriel preferiria que lhe dessem melhores probabilidades antes de viajar, mas achou que aquele momento era tão bom como qualquer outro. Com a cópia do Van Gogh terminada, a parte parisiense da operação já pouco mais era do que um jogo de espera. Podia passar o dia a olhar para o telefone ou podia aproveitar esse intervalo de atividade de forma mais produtiva. Acabou por ser Chiara a decidir por ele. Guardou os dois quadros no armário do quarto, fechando-os à chave, apressou-se até à Gare de Lyon e apanhou o TGV das nove. O comboio chegou a Genebra poucos minutos depois do meio-dia. Gabriel ligou para Berna de um telefone público no átrio das bilheteiras.
— Onde estás? — perguntou o homem.
Gabriel disse-lhe a verdade.
— Vou ver o que posso fazer.
A estação de comboios ficava numa parte de Genebra que parecia um duro quartier de uma cidade francesa. Gabriel dirigiu-se para o lago e atravessou a Pont du Mont Blanc, até à Margem Sul. Comeu uma piza no Jardim Inglês, sem pressa nenhuma, e depois percorreu as ruas escurecidas da Cidade Velha do século XVI. Às quatro da tarde, o ar já estava frio devido à noite que se aproximava. Com os pés doridos e cansado de esperar, Gabriel ligou pela terceira vez ao homem de Berna, mas ninguém atendeu. Passados dez minutos, quando estava a passar pelos bancos e pelas lojas de luxo da Rue du Rhône, telefonou-lhe novamente. Desta feita, o homem atendeu.
— Chama-me antiquado — disse Gabriel —, mas não aprecio mesmo nada quando as pessoas me deixam pendurado.
— Nunca te prometi nada.
— Podia ter ficado em Paris.
— Teria sido uma pena. Genebra é um encanto, nesta altura do ano. E terias perdido a oportunidade de dar uma olhadela ao que há no Freeport.
— E estás a contar deixar-me ficar à espera muito mais tempo?
— Podemos tratar já disso, se quiseres.
— Onde estás?
— Vira-te.
Gabriel fez o que lhe disseram.
— Sacana.
Chamava-se Christoph Bittel — pelo menos, era esse o nome que utilizara da última e única vez que se tinham cruzado. Trabalhava, ou pelo menos assim o dissera na altura, para a divisão de contraterrorismo do NDB, os fiáveis serviços secretos e de segurança interna suíços. Era magro e pálido, com uma testa grande que lhe dava um ar, que até tinha alguma razão de ser, extremamente inteligente. Quando estendeu a mão, por cima da caixa de velocidades de um grande carro alemão desportivo, parecia que ela tinha acabado de ser expurgada de bactérias.
— Sê bem-vindo de novo a Genebra — disse Bittel ao entrar com o carro devagar no meio do trânsito. — Foi simpático teres feito reserva, sempre é uma novidade.
— Os meus tempos das operações não autorizadas na Suíça já terminaram. Agora somos parceiros, lembras-te, Bittel?
— É melhor não nos entusiasmarmos, Allon. Não vamos querer dar cabo da diversão.
Bittel pôs uns óculos escuros grandes que lhe davam às feições um ar de louva-a-deus. Conduzia bem, mas com cuidado, como se tivesse contrabando dentro da bagageira e estivesse a tentar evitar encontros com as autoridades.
— Como podes calcular — disse passado um momento —, os nossos agentes e ministros mais importantes já passaram muitas horas interessantes a ouvir a tua confissão.
— Não foi uma confissão.
— Então como descrevias o que se passou?
— Fiz-te um relatório exaustivo das minhas atividades em território suíço — respondeu Gabriel. — E, em troca, aceitaste não me enfiar na cadeia para o resto da vida.
— Coisa que merecias. — Bittel abanou a cabeça lentamente enquanto guiava. — Assassínios, roubos, raptos, uma operação de contraterrorismo no cantão de Uri que deixou vários membros da Al-Qaeda mortos. Estou a esquecer-me de alguma coisa?
— Uma vez, também chantageei um dos vossos empresários mais destacados para poder ter acesso à cadeia de fornecimento nuclear do Irão.
— Ah, pois. Como me pude esquecer do Martin Landesmann?
— Foi uma das minhas melhores.
— E agora queres ter acesso a um armazém no Freeport de Genebra sem um mandado judicial?
— Com certeza que tens algum amigo no Freeport disposto a deixar-te dar de vez em quando uma espreitadela extrajudicial à mercadoria.
— Com certeza — reconheceu Bittel. — Mas, por norma, gosto de saber o que vou lá encontrar antes de arrombar o cadeado.
— Quadros, Bittel. Vamos encontrar lá quadros.
— Quadros roubados?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— E o que acontece se o dono descobrir que estivemos lá dentro?
— O dono está morto. Não se vai queixar.
— Os armazéns do Freeport estão registados no nome da empresa do Bradshaw. E a empresa continua viva.
— A empresa é uma fachada.
— Estamos na Suíça, Allon. As empresas de fachada são o que nos mantém em atividade.
O semáforo à frente deles passou de verde para amarelo. Bittel tinha mais do que tempo para atravessar o cruzamento. Em vez disso, preferiu tirar o pé do acelerador e fazer o carro parar suavemente.
— Ainda não me disseste do que se trata — disse, depenicando o punho das mudanças.
— E com boas razões.
— E se eu te conseguir pôr lá dentro? O que ganho com isso?
— Se eu tiver razão — respondeu Gabriel —, um dia tu e os teus amigos do NDB vão poder anunciar que recuperaram várias obras de arte há muito desaparecidas.
— Arte roubada no Freeport de Genebra. Não é propriamente uma grande jogada, do ponto de vista das relações públicas, para a Confederação.
— Não se pode ter tudo, Bittel.
O semáforo mudou. Bittel levantou o pé do travão e acelerou devagar, como se estivesse a tentar poupar combustível.
— Entramos, damos uma vista de olhos e depois vamos embora. E tudo o que estiver na caixa-forte fica na caixa-forte. Estamos entendidos?
— Como queiras. — Bittel avançou com o carro em silêncio, sorrindo. — Onde está a piada? — perguntou Gabriel.
— Acho que gosto do novo Allon.
— Nem imaginas como isso é importante para mim, Bittel. Mas podes ir um bocadinho mais depressa? Gostava de chegar ao Freeport sem ser de manhã.
Vislumbraram-no uns minutos mais tarde, uma fila de edifícios brancos e anónimos, com um letreiro vermelho no cimo que dizia PORTS FRANCS. No século XIX, não passava praticamente de um celeiro onde os produtos agrícolas a caminho do mercado eram guardados. Atualmente, era um repositório seguro e livre de impostos onde os super-ricos de todo o mundo escondiam toda a espécie de tesouros: barras de ouro, joias, vinho vintage, automóveis e, claro, arte. Ninguém sabia ao certo qual a quantidade de grande arte existente no mundo que se encontrava no interior das caixas-fortes do Freeport de Genebra, mas julgava-se ser suficiente para criar vários grandes museus. Grande parte dela nunca voltaria a ver a luz do dia; e se chegasse a mudar de mãos, isso aconteceria em privado. Não era arte para ser vista e apreciada. Era arte como mercadoria, arte como proteção contra tempos incertos.
Apesar da vasta riqueza contida dentro do Freeport, as medidas de segurança possuíam típica discrição suíça. A vedação em redor do porto funcionava mais como desencorajamento do que como barreira e o portão que Bittel atravessou com o carro demorava a fechar-se. Mas, em todos os edifícios, havia câmaras de vídeo por tudo o que era sítio e, uns segundos depois de lá chegarem, um agente alfandegário apareceu junto a uma porta, com um bloco de notas com mola numa mão e um rádio na outra. Bittel saiu do carro e disse umas palavras ao funcionário, num francês fluente. O homem da alfândega voltou para o gabinete e, passado um momento, surgiu uma morena bem-feita, com uma saia e uma blusa justas. Entregou uma chave a Bittel e apontou para a ponta mais distante do complexo.
— Presumo que o tal amigo seja ela — disse Gabriel quando Bittel voltou a entrar no carro.
— A nossa relação é estritamente profissional.
— Tenho muita pena.
No Freeport, as moradas eram uma combinação do edifício, do corredor e da porta da caixa-forte. Bittel estacionou à frente do Edifício 4 e entrou seguido de Gabriel. Da entrada, estendia-se um corredor de portas aparentemente interminável. Uma estava aberta. Ao espreitar lá para dentro, Gabriel viu um homem pequeno e de óculos sentado a uma mesa chinesa em madeira lacada, com um telefone colado ao ouvido. A caixa-forte tinha sido transformada numa galeria de arte.
— Várias empresas de Genebra mudaram-se para o Freeport nos últimos anos — explicou Bittel. — A renda é mais barata do que na Rue du Rhône e os clientes parecem gostar da reputação que o Freeport tem quanto a maquinações secretas.
— Que é bem merecida.
— Agora já não.
— É o que vamos ver.
Entraram numa escadaria e subiram até ao segundo andar. A caixa-forte de Bradshaw ficava no corredor 12, por trás de uma porta de metal cinzenta com o número 24. Bittel hesitou antes de introduzir a chave.
— Não vai explodir, pois não?
— Boa pergunta.
— Isso não tem piada.
Bittel abriu a porta, ligou o interruptor e praguejou baixinho. Havia quadros por todo o lado — quadros emoldurados, quadros em cavaletes, quadros enrolados como carpetes num bazar persa. Gabriel desenrolou um no chão para que Bittel o visse. Era uma representação de um chalé no cimo de um penhasco junto ao mar repleto de resplandecentes plantas silvestres.
— Monet? — perguntou Bittel.
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Foi roubado de um museu polaco há coisa de uns vinte anos.
Desenrolou outro quadro: uma mulher com um leque.
— Se não me engano — disse Bittel —, isso é um Modigliani.
— E não te enganas mesmo. Foi um dos quadros que foram levados do Museu de Arte Moderna de Paris, em 2010.
— O roubo do século. Lembro-me bem.
Bittel seguiu Gabriel por uma porta que dava para a sala interior da caixa-forte. Estavam lá dois grandes cavaletes, uma lâmpada de halogéneo, frascos com solvente e médium, recipientes de pigmentos, pincéis, uma paleta já com muito uso e um catálogo da Christie’s do leilão londrino dos Velhos Mestres de 2004. Estava aberto numa página que mostrava uma crucificação atribuída a um seguidor de Guido Reni, executada de forma competente mas desinspirada e que nem sequer valia o prémio do vendedor.
Gabriel fechou o catálogo e olhou em redor da caixa-forte. Era o ateliê secreto de um mestre falsificador, pensou, na galeria de arte das obras desaparecidas. Mas era evidente que Yves Morel tinha feito mais do que falsificar quadros naquela sala; também fizera um pouco de restauro. Gabriel pegou na paleta e passou a ponta do dedo pelos restos de tinta que ainda havia na superfície. Ocre, dourado e carmesim: as cores da Natividade.
— O que é? — perguntou Bittel.
— Uma prova de vida.
— Do que estás a falar?
— Esteve aqui — respondeu Gabriel. — Existe.
Nas duas salas da caixa-forte, havia cento e quarenta e sete quadros — impressionistas, modernos, dos Velhos Mestres —, mas nenhum era um Caravaggio. Gabriel fotografou todas as telas servindo-se da câmara do telemóvel. As únicas duas outras coisas que se encontravam na caixa-forte eram uma secretária e um pequeno cofre no chão — demasiado pequeno, pensou Gabriel, para caber lá um retábulo italiano de dois metros por dois metros e meio. Verificou as gavetas da secretária, mas estavam vazias. A seguir, pôs-se de cócoras diante do cofre e rodou a tranca entre o polegar e o indicador. Duas voltas para a direita, duas voltas para a esquerda.
— Em que estás a pensar?
— Estava a pensar quanto tempo ias levar a ter cá um serralheiro.
Bittel fez um sorriso triste.
— Talvez da próxima vez.
Sim, pensou Gabriel. Da próxima vez.
Voltaram para a estação de comboios, apanhando o que era supostamente a hora de ponta de Genebra. Ao atravessarem a Pont du Mont-Blanc, Bittel pressionou Gabriel para que este lhe fizesse um relato mais completo do caso. E quando as perguntas que lhe apresentou não suscitaram resposta, insistiu na necessidade de uma notificação prévia caso o itinerário de Gabriel incluísse mais uma visita à Suíça. Gabriel aceitou de imediato, ainda que ambos tivessem noção de que se tratava de uma promessa que não passava disso mesmo.
— A determinada altura — disse Bittel —, vamos ter de fazer uma limpeza àquela caixa-forte e devolver aqueles quadros aos legítimos proprietários.
— A determinada altura — concordou Gabriel.
— Quando?
— Não tenho maneira de te responder a isso.
— Digo-te que tens um mês. Depois disso, vou ter de comunicar o assunto à Polícia Federal.
— Se fizeres isso — respondeu Gabriel —, a coisa vai rebentar na imprensa e a Suíça vai ficar com mais outro olho negro.
— Já estamos habituados.
— E nós também.
Chegaram à estação a tempo de Gabriel apanhar o comboio das quatro e meia para Paris. Quando lá chegou, já estava escuro; entrou para um táxi que estava à espera e indicou ao taxista uma morada a uma pequena distância do apartamento seguro. Mas no momento em que o táxi entrou na rua, Gabriel sentiu o telemóvel a vibrar. Atendeu a chamada, ficou a ouvir em silêncio durante um momento e depois interrompeu a ligação.
— Mudança de planos — disse ao taxista.
— Para onde?
— Para a Rue de Miromesnil.
— Como queira.
Gabriel enfiou o telefone no bolso e sorriu. Iam a jogo, pensou. Iam sem dúvida a jogo.
Inicialmente, Marcel Durand tentou fazer valer-se de um privilégio de confidencialidade em relação à identidade de quem tinha telefonado. Mas, ao ser pressionado, admitiu ter sido Jonas Fischer, um industrial rico e conhecido colecionador de Munique que recorria com regularidade aos serviços singulares de Monsieur Durand. Herr Fischer deixou logo à partida bem claro que não era ele quem estava interessado no Van Gogh, mas estava a interceder em nome de um conhecido, também colecionador, que, por razões óbvias, não podia identificar. Segundo parecia, esse segundo colecionador já tinha enviado um representante para Paris, com base em certos rumores que andavam a percorrer o mundo da arte. Herr Fischer gostaria de saber se Durand não poderia indicar a direção certa ao representante.
— E o que lhe disse? — perguntou Gabriel.
— Disse-lhe que desconhecia o paradeiro do Van Gogh, mas que ia fazer uns telefonemas.
— E se acabar por conseguir ajudar em alguma coisa?
— Disseram-me para ligar diretamente ao representante.
— Que imagino não tenha nome.
— Só um número de telefone — respondeu Durand.
— Mas que profissional.
— Foi exatamente isso que achei.
Estavam no pequeno escritório nas traseiras da loja de Durand. Gabriel estava encostado à porta; Durand, sentado à secretariazinha dickensiana. No mata-borrão que tinha à frente, estava um microscópio em bronze, dos finais do século XIX, fabricado pela Vérick, em Paris.
— E é dele que andamos à procura? — perguntou Gabriel.
— Um homem como Herr Fischer só estaria ligado a um colecionador importante. E também deu a entender que o amigo tinha feito uma série de aquisições igualmente importantes nos últimos tempos.
— E alguma dessas aquisições foi um Caravaggio?
— Não perguntei.
— Se calhar, foi melhor não o ter feito.
— Se calhar — concordou Durand.
De repente, ficaram os dois em silêncio.
— E então? — perguntou o francês.
— Diga-lhe para estar amanhã no pátio de entrada da Saint-Germain-des-Prés, às duas da tarde, perto da porta vermelha. Diga-lhe para levar o telefone, mas nada de pistolas. E, faça o que fizer, não se ponha com conversas. Diga-lhe só o que ele tem de fazer e depois desligue.
Durand levantou o auscultador do telefone e marcou o número.
Saíram da loja cinco minutos mais tarde, o ladrão de arte e o antigo e futuro agente dos serviços secretos israelitas, e despediram-se praticamente sem dizerem mais uma palavra nem olharem um para o outro. O ladrão de arte foi para a brasserie em frente; o agente, para a embaixada israelita, no número 3 da Rue Rabelais. Entrou no prédio pela porta dos fundos, desceu para o centro de comunicações seguras e telefonou para o chefe da Divisão de Logística, a divisão que geria as propriedades seguras do Departamento. Explicou que precisava de um sítio perto de Paris, mas isolado, preferencialmente a norte. Não precisava de ser nada majestoso, acrescentou. Não estava a pensar dar nenhuma festa.
— Lamento — respondeu o chefe da Divisão de Logística. — Posso autorizá-lo a ficar numa propriedade existente, mas não posso adquirir uma nova sem aprovação vinda do último andar.
— Se calhar, não estava a ouvir quando eu lhe disse como me chamava.
— E o que digo ao Uzi?
— Nada, claro.
— E para quando precisa disso?
— Para ontem.
Às nove da manhã seguinte, a Divisão de Logística já tinha comprado uma pitoresca quinta de férias na região francesa da Picardia, logo à saída da aldeia de Andeville. Uma sebe imponente ocultava a entrada e da extremidade do bonito jardim de trás estendia-se uma miscelânea de terrenos de lavoura planos. Gabriel e Chiara chegaram lá ao meio-dia e esconderam os dois Van Gogh na adega. Depois Gabriel seguiu de imediato de carro para Paris. Deixou o automóvel num parque de estacionamento perto da estação de metro de Odéon e percorreu a pé o boulevard a caminho da Place Saint-Germain-des-Prés. Num canto da movimentada praça, ficava um café chamado Le Bonaparte. Sentado a uma mesa virada para a rua, encontrava-se Christopher Keller. Gabriel cumprimentou-o em francês e sentou-se ao lado dele. Olhou para o relógio. Eram 13h55. Pediu um café e fitou a porta vermelha da igreja.
Não foi difícil identificá-lo; nessa tarde perfeita de primavera, com o sol a brilhar intensamente num céu sem nuvens e um vento suave a soprar pelas ruas apinhadas de gente, era a única pessoa que tinha vindo sozinha à igreja. Era de estatura mediana, com quase um metro e oitenta, e bem constituído. Tinha movimentos fluidos e decididos — como os de um futebolista, pensou Gabriel, ou de um soldado de elite. Usava um casaco desportivo castanho-claro e fino, uma camisa branca e calças cinzentas de gabardina. Um chapéu de palha tapava-lhe a cara; uns óculos escuros escondiam-lhe os olhos. Aproximou-se da porta vermelha e fingiu que estava a consultar um guia turístico. Estavam duas raparigas, uma de calções e a outra com um vestido caicai, sentadas nas escadas, com as pernas nuas esticadas. Foi evidente que houve qualquer coisa no homem que as fez sentirem-se desconfortáveis. Ficaram ali sentadas mais um momento e depois levantaram-se e atravessaram a praça.
— O que achas? — perguntou Keller.
— Acho que é o nosso rapaz.
O empregado trouxe o café de Gabriel. Este pôs-lhe açúcar e mexeu-o pensativamente enquanto observava o homem parado ao lado da porta vermelha da igreja.
— Não lhe vais ligar?
— Ainda não são duas, Christopher.
— Vai dar ao mesmo.
— É melhor não parecer muito ansioso. Não te esqueças que já temos um comprador fisgado. O nosso amigo ali ao fundo já levantou o cartão de licitação bem tarde.
Gabriel deixou-se ficar sentado à mesa até o relógio no campanário da igreja indicar que já passavam dois minutos das duas. Foi então que se levantou e entrou no café. Estava vazio, tirando os empregados. Aproximou-se da janela, sacou o telemóvel do bolso do casaco e marcou o número. Passados uns segundos, o homem parado à frente da igreja atendeu.
— Bonjour.
— Não precisa de falar francês só por estarmos em Paris.
— Prefiro francês, se não se importa.
Até podia preferir francês, pensou Gabriel, mas não era a língua-mãe dele. Já não fingia que olhava para o guia. Estava a inspecionar a praça, à procura de um homem com um telemóvel encostado ao ouvido.
— Veio sozinho? — perguntou Gabriel.
— Como me está a ver neste preciso momento, já sabe que a resposta é sim.
— Estou a ver um homem parado no sítio onde devia estar, mas não sei se ele veio sozinho.
— Veio.
— E alguém o seguiu?
— Não.
— Como pode ter a certeza?
— Tenho.
— E como o devo tratar?
— Pode tratar-me por Sam.
— Sam?
— Sim, Sam.
— Trouxe alguma pistola, Sam?
— Não.
— Tire o casaco.
— Porquê?
— Quero ver se está alguma coisa debaixo dele que não devia lá estar.
— Isto é mesmo necessário?
— Quer ver o quadro ou não?
O homem pousou o guia e o telefone nas escadas, despiu o casaco e pendurou-o no braço. A seguir, voltou a pegar no telefone e perguntou:
— Satisfeito?
— Dê meia-volta para ficar virado para a igreja.
O homem rodou cerca de quarenta e cinco graus.
— Mais.
Outros quarenta e cinco.
— Muito bem.
O homem regressou à posição original e perguntou:
— E agora?
— Vai dar um passeio.
— Não me apetece dar nenhum passeio.
— Não se preocupe, Sam. Não vai ser um passeio grande.
— E onde quer que eu vá?
— Quero que siga pelo boulevard, em direção ao Quartier Latin. Sabe o caminho para o Quartier Latin, Sam?
— Claro que sim.
— Conhece bem Paris?
— Muito bem.
— Não olhe por cima do ombro nem faça paragens. E não se sirva do telefone. Senão, é capaz de não ouvir a minha próxima chamada.
Gabriel interrompeu a ligação e voltou para o pé de Keller.
— E então? — perguntou o Inglês.
— Acho que acabámos de encontrar o Samir. E acho que é um profissional.
— E sempre vamos a jogo?
— Já vamos saber não tarda nada.
Do outro lado da praça, Sam estava a vestir o casaco desportivo. Enfiou o telemóvel no bolso do peito, largou o guia num caixote do lixo e depois dirigiu-se para o Boulevard Saint-Germain. Se virasse à direita, seguiria na direção dos Invalides; se virasse à esquerda, seguiria para o Quartier Latin. Hesitou um momento e depois virou à esquerda. Gabriel contou devagar até vinte antes de se levantar e começar a segui-lo.
Quando mais não fosse, era capaz de cumprir ordens. Seguiu em linha reta pelo boulevard, passando pelas lojas e os cafés apinhados de gente, sem parar nem espreitar por cima do ombro uma única vez. Isso permitiu a Gabriel concentrar-se na sua tarefa principal, que era a contravigilância. Não viu nada que indicasse que Sam tivesse um cúmplice. E também não parecia que estivesse a ser seguido pela polícia francesa. Estava limpo, pensou Gabriel. Tão limpo como um comprador de arte roubada podia estar.
Passados dez minutos a andar a bom ritmo, Sam estava a aproximar-se do ponto em que o boulevard ia dar ao Sena. Meio quarteirão atrás dele, Gabriel sacou o telemóvel do bolso e ligou-lhe. Uma vez mais, Sam atendeu de imediato, como o mesmo bonjour cordial.
— Vire à esquerda para a Rue du Cardinal Lemoine e siga-a até ao Sena. Atravesse a ponte para a Île Saint-Louis e depois continue sempre a andar até voltar a ter notícias minhas.
— Ainda falta muito?
— Já não, Sam. Está quase lá.
Sam virou conforme lhe tinham ordenado e atravessou a Pont de la Tournelle para a pequena ilha no meio do Sena. Uma série de cais pitorescos sucedia-se ao longo do perímetro da ilha, mas havia apenas uma rua, a Rue Saint-Louis en l’Île, que a percorria por inteiro. Pelo telefone, Gabriel disse a Sam para virar outra vez à esquerda.
— Ainda falta muito?
— Só mais um bocadinho, Sam. E não olhe por cima do ombro.
Era uma rua estreita, com turistas a deambularem sem rumo, à frente das montras das lojas. Na ponta ocidental, ficava uma gelataria, e, ao lado desta, uma brasserie com ótima vista para Notre-Dame. Gabriel ligou para Sam e transmitiu-lhe as últimas ordens.
— E quanto tempo tenciona deixar-me à espera?
— Lamento dizê-lo, mas não vou almoçar consigo, Sam. Sou só um mero empregado.
Gabriel interrompeu a ligação sem dizer mais uma palavra e ficou a ver Sam entrar na brasserie. Um empregado de mesa cumprimentou-o e apontou com a mão para uma mesa no passeio ocupada por um inglês loiro e de óculos com lentes azuis. O inglês levantou-se e, com um sorriso, estendeu-lhe a mão. «Reg», ouviu-o Gabriel dizer enquanto virava a esquina. «Reg Bartholomew. E você deve ser o Sam.»
— Gostava de começar esta conversa, senhor Bartholomew, dando-lhe os meus parabéns. O senhor e os seus amigos realizaram uma operação impressionante em Amesterdão.
— E como sabe que não fiz isso sozinho?
— Não é o género de coisa que se faça sozinho. Com certeza que teve ajuda — acrescentou Sam. — Como aquele seu amigo que falou ao telefone comigo. Ele fala francês muito bem, mas não é francês, pois não?
— E que diferença é que isso faz?
— Uma pessoa gosta de saber minimamente com quem está a negociar.
— Isto não é o Harrods, meu caro.
Sam perscrutou a rua com a languidez de um turista que tinha visitado demasiados museus demasiado depressa.
— Ele anda algures por aqui, não anda?
— Não faço ideia.
— E há mais gente?
— Muito mais.
— E, mesmo assim, pediram-me para vir sozinho.
— É o vendedor quem manda no mercado.
— Já ouvi dizer.
Sam recomeçou a examinar a rua. Continuava com o chapéu de palha e os óculos escuros postos, o que lhe deixava apenas a metade inferior da cara visível. Tinha a barba muito bem feita e estava perfumado com critério. As maçãs do rosto eram altas e proeminentes, o queixo, recortado, os dentes, sem irregularidades e branquíssimos. Não tinha cicatrizes nem tatuagens nas mãos. Não trazia anéis nos dedos nem pulseiras nos pulsos, só um grande Rolex de ouro para indicar que era um homem de posses. Possuía os maneirismos refinados de um árabe de boas famílias, mas com um lado mais duro.
— E também já ouvi dizer outras coisas — continuou Sam passado um momento. — As pessoas que já viram a mercadoria dizem que conseguiu tirá-la de Amesterdão com o mínimo de danos.
— Nenhuns, na verdade.
— E também já ouvi dizer que há polaroides.
— E onde ouviu isso?
Sam fez um sorriso desagradável.
— Isto vai demorar muito mais tempo do que é necessário se insistir em prosseguir com estes jogos, senhor Bartholomew.
— Uma pessoa gosta de saber minimamente com quem está a negociar — respondeu Keller mordazmente.
— Está a pedir-me informações sobre o homem que eu represento, senhor Bartholomew?
— Nem me passaria pela cabeça tal coisa.
Seguiu-se um silêncio.
— O meu cliente é um homem de negócios — disse Sam por fim. — Bastante bem-sucedido, muito rico. E também é um amante das artes. Coleciona imenso, mas tal como acontece com vários colecionadores importantes, encontra-se frustrado com o facto de já só haver à venda muitíssimo poucos quadros bons. Anda interessado em adquirir um Van Gogh há muitos anos. E o senhor tem neste momento um que é muitíssimo bom. O meu cliente gostava de ficar com ele.
— Tal como muitas outras pessoas. — Isso não pareceu afetar Sam. — Então e o senhor? — perguntou passado um momento. — Porque não me fala um bocadinho de si?
— Ganho a vida a roubar quadros.
— E é inglês?
— Receio bem que sim.
— Sempre gostei dos ingleses.
— Não vou levar isso a mal.
Surgiu um empregado, que entregou uma ementa a cada um. Sam pediu uma garrafa de água mineral; Keller, um copo de vinho que não fazia tenções de beber.
— Deixe-me esclarecer-lhe desde já uma coisa — disse ele quando voltaram a ficar a sós. — Não estou interessado em drogas, armas, raparigas ou num condomínio em Boca Raton, na Florida. Só quero saber de dinheiro vivo.
— E de quanto dinheiro estamos a falar, senhor Bartholomew?
— Tenho uma oferta de vinte milhões em cima da mesa.
— De que sabor?
— Euros.
— E é uma oferta firme?
— Adiei a venda para me encontrar consigo.
— Mas que lisonjeador. E porque havia de fazer uma coisa dessas?
— Porque ouvi dizer que o seu cliente, seja ele quem for, é um homem com bolsos fundos.
— Muito fundos.
Outro sorriso, só ligeiramente mais agradável do que o primeiro.
— Então e como prosseguimos, senhor Bartholomew?
— Preciso de saber se está interessado ou não em bater a oferta que está em cima da mesa.
— Estou.
— Por quanto?
— Imagino que lhe podia oferecer qualquer coisa insignificante, como por exemplo mais quinhentos mil, mas o meu cliente não gosta de leilões.
Fez uma pausa e a seguir perguntou:
— Vinte e cinco milhões chegam para tirar o quadro de cima da mesa?
— Chegam com certeza, Sam.
— Ótimo — retorquiu ele. — Então, talvez seja boa altura para me mostrar as polaroides.
As polaroides estavam no porta-luvas de um Mercedes alugado que se encontrava estacionado numa rua sossegada por trás de Notre-Dame. Keller e Sam foram até lá e entraram para o carro, com Keller a sentar-se ao volante e Sam no lugar do passageiro. Keller revistou-o rápida mas minuciosamente e só depois abriu o porta-luvas para sacar de lá as fotografias. Ao todo, eram quatro — uma de corpo inteiro e três de pormenor. Sam passou-as em revista com uma expressão cética.
— Parece um bocadinho o Van Gogh que está pendurado em cima da cama do meu quarto de hotel.
— Mas não é.
Fez uma cara que mostrava que não estava convencido.
— O quadro que está nesta fotografia pode ser uma cópia. E o senhor pode ser um vigarista espertalhão que anda a tentar aproveitar-se do roubo de Amesterdão.
— Tire os óculos escuros e veja melhor, Sam.
— E é o que pretendo fazer.
Devolveu as fotos a Keller.
— Preciso de ver isso ao vivo e não em fotografias.
— Não estou à frente de nenhum museu, Sam.
— Ou seja?
— Não posso mostrar o Van Gogh a toda a gente que o queira ver. Preciso de saber se quer mesmo adquiri-lo ou não.
— Já lhe ofereci vinte e cinco milhões de euros em dinheiro vivo por ele.
— Oferecer vinte e cinco milhões é fácil, Sam. Passá-los para a mão de outra pessoa é que já é bastante diferente.
— O meu cliente é um homem extraordinariamente rico.
— Então tenho a certeza de que não o mandou para Paris de mãos a abanar.
Keller voltou a guardar as fotografias no porta-luvas e fechou-o com força.
— É assim que funciona o seu esquema? Diz que só mostra o quadro se vir primeiro o dinheiro e depois rouba-o?
— Se eu tivesse algum esquema, você e o seu cliente já teriam ouvido falar disso.
Sam não teve resposta para dar.
— Não consigo arranjar mais do que dez mil em dinheiro vivo assim tão em cima da hora.
— Vou precisar de ver um milhão.
Sam soltou um risinho trocista, como que a querer dizer que um milhão estava fora de questão.
— Se quer ver um Van Gogh por menos de um milhão — disse Keller —, pode ir ao Louvre ou ao Musée d’Orsay. Mas se quer ver o meu Van Gogh, vai ter de me mostrar o dinheiro.
— Não é seguro andar pelas ruas de Paris com essas quantias.
— Algo me diz que você sabe muito bem tomar conta de si.
Sam soltou um suspiro de capitulação.
— Onde e quando?
— Saint-Germain-des-Prés, amanhã às duas da tarde. Sem amigos. Nem pistolas.
Sam saiu do carro sem dizer mais uma palavra e foi-se embora.
Atravessou o Sena para a Margem Direita e percorreu a Rue de Rivoli, passando pela ala norte do Louvre, em direção ao Jardim das Tulherias. Passou grande parte do tempo ao telefone e, por duas vezes, executou dois exemplos rudimentares das artes do ofício da espionagem para perceber se o estavam a seguir. Ainda assim, não pareceu reparar que Gabriel se encontrava cinquenta metros atrás dele.
Antes de chegar ao Jeu de Paume, cortou para a Rue Saint-Honoré e entrou numa loja de luxo que vendia dispendiosos produtos de cabedal para homem. Saiu de lá passados dez minutos, com uma nova pasta que levou até uma sucursal do HSBC Private Bank, no Boulevard Haussmann. Esteve lá dentro vinte e dois minutos certos e, quando voltou a aparecer, a pasta parecia mais pesada do que quando tinha entrado. Seguiu rapidamente para a Place de la Concorde e depois atravessou a entrada imponente do Hôtel de Crillon. Assistindo ao longe a tudo, Gabriel sorriu. Para o representante do Senhor Peixe Graúdo, só do bom e do melhor. Quando se começou a ir embora, ligou a Keller para lhe dar as novidades. Iam a jogo, disse-lhe. Iam sem dúvida a jogo.
Às duas da tarde do dia seguinte, estava parado à frente da porta vermelha da igreja, com o chapéu e os óculos escuros no devido sítio e a nova pasta bem segura na mão direita. Gabriel esperou cinco minutos antes de lhe telefonar.
— Você outra vez — disse Sam num tom sorumbático.
— Infelizmente, sim.
— E agora?
— Damos mais outro passeio.
— E desta vez para onde?
— Siga a Rue Bonaparte até à Place Saint-Sulpice. As mesmas regras da outra vez. Não faça paragens nem olhe por cima do ombro. E nada de telefonemas.
— E até onde está a pensar fazer-me andar desta vez?
Gabriel desligou sem dizer mais nada. Do outro lado da movimentada praça, Sam começou a andar. Gabriel contou devagar até vinte e depois seguiu-o.
Deixou Sam chegar ao Jardim do Luxemburgo e só depois lhe voltou a ligar. Daí, seguiram para sudoeste, na Rue de Vaugirard, e depois para norte, no Boulevard Raspail, até à entrada do Hôtel Lutetia. Keller estava no bar, sentado a uma mesa, a ler o Telegraph. Sam sentou-se ao lado dele, conforme lhe tinham ordenado.
— Como se portou ele desta vez? — perguntou Keller.
— Tão minucioso como sempre.
— Não quer beber nada?
— Não bebo.
— Mas que pena.
Keller dobrou o jornal.
— É melhor tirar os óculos, Sam. Senão, a gerência ainda é capaz de ficar com uma ideia errada de si.
Sam fez o que Keller lhe sugeriu. Tinha olhos castanho-claros e grandes. Com a cara à mostra, tornava-se uma figura muito menos ameaçadora.
— E agora o chapéu — continuou Keller. — Um cavalheiro não anda de chapéu na cabeça no bar do Lutetia.
Sam tirou o chapéu de palha, deixando ver um cabelo farto, castanho mas não preto, já um bocadinho grisalho na zona das orelhas. Se era árabe, não era da Península nem do Golfo. Keller olhou para a pasta.
— Trouxe o dinheiro?
— Um milhão, exatamente como pediu.
— Deixe-me dar uma espreitadelazinha. Mas com cuidado — acrescentou Keller. — Tem uma câmara de vigilância por cima do ombro direito.
Sam pousou a pasta em cima da mesa, destrancou-a e abriu a tampa uns centímetros, apenas o suficiente para que Keller visse de relance as filas bem arrumadas de notas de cem euros.
— Feche-a — disse Keller em voz baixa.
Sam fechou e trancou a pasta.
— Satisfeito? — perguntou.
— Ainda não.
Keller pôs-se de pé.
— Para onde vamos agora?
— Para o meu quarto.
— E vai lá estar mais alguém?
— Só vamos lá estar nós os dois, Sam. Muito romântico.
Sam levantou-se e pegou na pasta.
— Acho que é importante esclarecer bem uma coisa antes de subirmos.
— O quê, Sam?
— Se me acontecer alguma coisa, ou ao dinheiro do meu cliente, o senhor e o seu amigo vão acabar em muito mau estado. — Pôs os óculos e sorriu. — Só para não haver mal-entendidos, meu caro.
No vestíbulo do quarto, longe dos olhos indiscretos das câmaras de vigilância do hotel, Keller revistou Sam, à procura de armas ou de aparelhos de escuta. Ao não encontrar nada a que pudesse objetar, pousou a pasta ao fundo da cama e destrancou-a. A seguir, tirou três maços de notas e, de cada maço, uma única nota. Examinou-as uma a uma com uma lupa de profissional; depois, na casa de banho às escuras, sujeitou-as ao crivo da lanterna ultravioleta de Gabriel. As fitas de segurança brilharam a uma luz verde-limão; as notas eram verdadeiras. Voltou a pôr as notas nos maços e os maços na pasta. Depois fechou-a e, com a cabeça, indicou que estavam prontos para dar o passo seguinte.
— Quando? — perguntou Sam.
— Amanhã à noite.
— Tenho uma ideia melhor — retorquiu ele. — Fazemos isso hoje à noite. Caso contrário, não há negócio.
Maurice Durand tinha-lhes dito para contarem com uma coisa desse género — um estratagemazinho tático, uma revolta de trazer por casa, que permitiria a Sam pensar que era ele, e não Keller, quem comandava as negociações. Keller protestou levemente, mas Sam manteve-se firme. Queria estar à frente do Van Gogh antes da meia-noite; se não estivesse, ele e os vinte e cinco milhões de euros desapareceriam. O que não deixou a Keller outra opção senão aceder à vontade do adversário. Fê-lo com um sorriso de quem concede algo, como se a mudança de planos pouco mais fosse do que um mero inconveniente. A seguir, estabeleceu rapidamente as regras para a inspeção a ocorrer naquela noite. Sam podia tocar no quadro, cheirá-lo ou fazer amor com ele. Mas não o podia fotografar em circunstância alguma.
— Onde e quando? — perguntou Sam.
— Ligamos-lhe às nove para lhe explicar como vamos proceder.
— Ótimo.
— E onde está hospedado?
— Sabe perfeitamente onde estou hospedado, senhor Bartholomew. Vou estar no átrio do Crillon às nove da noite, sem amigos nem pistolas. E diga ao seu amigo para desta vez não me deixar à espera.
Saiu do hotel passados dez minutos, já com o chapéu e os óculos escuros, e foi a pé até ao HSBC Private Bank, no Boulevard Haussmann, onde, presumivelmente, terá voltado a guardar o milhão de euros no cofre de segurança do cliente. A seguir, dirigiu-se, novamente a pé, para o Musée d’Orsay e passou lá duas horas a estudar os quadros de um tal Vincent van Gogh. Quando saiu do museu, já eram quase seis. Comeu uma refeição ligeira num bistro dos Campos Elíseos e depois voltou para o quarto no Crillon. Conforme prometera, às nove em ponto estava no átrio do hotel, com calças cinzentas, um pulôver preto e um casaco de cabedal. Gabriel sabia-o por estar a cerca de um metro de distância, no bar do átrio. Esperou até serem nove e dois e ligou para o número de Sam.
— Sabe andar no metro de Paris?
— Claro que sim.
— Vá até à estação de Concorde e apanhe o Número Doze para Marx Dormoy. O senhor Bartholomew vai estar lá à sua espera.
Sam saiu do átrio. Gabriel deixou-se ficar mais cinco minutos no bar. Depois pediu ao arrumador de carros do hotel para ir buscar o dele e seguiu para a quinta na Picardia.
A estação de Marx Dormoy ficava no oitavo arrondissement, na Rue de la Chapelle. Keller estava estacionado em frente, a fumar um cigarro, quando Sam surgiu ao cimo das escadas. Aproximou-se do carro e entrou discretamente para o lugar do passageiro sem dizer uma palavra.
— Onde está o seu telemóvel? — perguntou Keller.
Sam sacou-o do bolso do casaco e mostrou-o a Keller.
— Desligue-o e tire-lhe o cartão SIM.
Sam fez o que lhe disseram. Keller meteu a primeira e avançou devagar para o meio do trânsito noturno.
Deixou que Sam continuasse sentado no lugar do passageiro até saírem dos subúrbios a norte. Foi então que, no meio de um arvoredo perto da cidadezinha de Ézanville, lhe ordenou que entrasse para a bagageira. Fez a longa viagem para norte, até à Picardia, acrescentando-lhe pelo menos uma hora. Por isso mesmo, já era quase meia-noite quando virou para o caminho de entrada da quinta. Quando Sam saiu da bagageira, reparou na silhueta de um homem parado, ao luar, no extremo da propriedade.
— Presumo que aquele seja o seu sócio.
Keller não respondeu. Preferiu levá-lo para dentro da quinta, pela porta das traseiras, para depois descerem as escadas para a adega. Encostado a uma parede, iluminado por uma simples lâmpada pendurada num fio, estavam os Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, da autoria de Vincent van Gogh. Sam ficou diante do quadro durante longos instantes sem dizer nada. Keller pôs-se ao lado dele.
— E então? — acabou por perguntar.
— Só um momento, senhor Bartholomew. Só um momento.
Por fim, avançou e pegou no quadro pelas barras verticais do suporte, virando-o para examinar as marcas do museu na parte de trás da tela. A seguir, olhou para as margens do quadro e fez uma careta.
— Há algum problema? — perguntou Keller.
— O Vincent era conhecido pela forma descuidada como tratava os quadros. Veja só — acrescentou, voltando as margens do suporte para Keller. — Deixou as impressões digitais por todo o lado.
Sam sorriu, aproximou o quadro da luz e passou vários minutos a examinar as pinceladas com atenção. Depois colocou-o outra vez na posição original e recuou para o escrutinar a uma distância maior. Desta vez, Keller não lhe interrompeu o silêncio.
— Espetacular — disse passado um momento.
— E autêntico — acrescentou Keller.
— É possível. Ou então é possível que seja obra de um falsificador extremamente talentoso.
— Mas não é.
— Vou precisar de efetuar um teste simples para ter a certeza, uma análise às lascas da tinta. Se a tinta for autêntica, temos negócio. Se não for, nunca mais vai ter notícias minhas e fica à vontade para impingir o quadro a um comprador menos sofisticado.
— E quanto tempo é que isso vai demorar?
— Setenta e duas horas.
— Tem quarenta e oito.
— Não admito que me apressem, senhor Bartholomew. Nem o meu cliente o fará.
Keller hesitou antes de assentir com a cabeça uma vez. Servindo-se de um bisturi para cirurgias, Sam tirou habilidosamente duas lascas minúsculas de tinta do quadro — uma do canto inferior direito e a outro do canto inferior esquerdo — e depositou-as num frasquinho de vidro. Enfiou o frasquinho no bolso do casaco e, com Keller logo atrás, subiu as escadas. Lá fora, a figura em silhueta continuava parada no extremo da propriedade.
— Vou chegar a conhecer o seu sócio? — perguntou Sam.
— Não o aconselharia — respondeu Keller.
— Porquê?
— Porque seria a última cara que veria na vida.
Sam franziu o sobrolho e entrou para a bagageira do Mercedes. Keller fechou a porta com força e levou-o outra vez para Paris.
Eram todos agentes experimentados, cada um à sua maneira singular, mas mais tarde diriam que os três dias que se seguiram passaram à velocidade de um rio bloqueado pelo gelo. O habitual autodomínio de Gabriel abandonou-o. Tinha engendrado o roubo de um dos quadros mais famosos do mundo como parte de um estratagema para encontrar outro; e, no entanto, nada disso serviria para alguma coisa se o homem chamado Sam desistisse do negócio. Apenas Maurice Durand, talvez o principal especialista do mundo inteiro no comércio ilícito de arte, se mantinha confiante. Segundo a experiência dele, os colecionadores sem escrúpulos como o Senhor Peixe Graúdo raramente renunciavam a uma oportunidade de adquirir um Van Gogh. Com certeza que, afirmou, o fascínio dos Girassóis seria demasiado poderoso para se poder resistir. Ao não ser que Gabriel se tivesse enganado e mostrasse a falsificação a Sam, coisa que não tinha acontecido; a análise às lascas da tinta seria positiva e o negócio avançaria.
Na eventualidade de Sam desistir, tinham uma outra opção; podiam segui-lo e tentar determinar a identidade do cliente, o homem da grande fortuna, que estava preparado para pagar 25 milhões de euros por uma obra de arte roubada. Era apenas uma das razões que tinham levado Gabriel e Keller, dois dos agentes mais experimentados do mundo inteiro a seguir pessoas, a monitorizar cada passo de Sam durante os três dias em que estiveram à espera. Vigiaram-no de manhã, enquanto trilhava os caminhos para peões das Tulherias, à tarde, enquanto visitava as atrações turísticas a bem do disfarce, e à noite, enquanto jantava, sempre sozinho, na zona dos Campos Elíseos. A sensação que transmitia era de disciplina. A determinada altura da vida, concordaram Keller e Gabriel, Sam tinha feito parte da irmandade secreta dos espiões. Ou talvez, pensaram, ainda fizesse.
Na manhã do terceiro dia, deu-lhes a todos um pequeno susto quando não foi dar o passeio habitual. O sobressalto aumentou às quatro da tarde quando o viram sair do Crillon com duas malas grandes e entrar para o banco de trás de uma limusina. Mas essa preocupação desvaneceu-se depressa quando a limusina o levou até ao HSBC Private Bank, no Boulevard Haussmann. Passados trinta minutos, já tinha voltado para o quarto. Havia apenas duas possibilidades, explicou Keller. Sam executara o assalto mais discreto de sempre a um banco ou então tinha acabado de retirar uma grande quantia de dinheiro de um cofre de segurança. Keller desconfiava que fosse o segundo caso. E Gabriel também. Por isso mesmo, o suspense foi mínimo quando chegou finalmente a altura de telefonar a Sam para saber a resposta dele. Keller fez as honras. Terminada a chamada, olhou para Gabriel e sorriu.
— Podemos nunca vir a encontrar o Caravaggio — disse —, mas estamos prestes a receber vinte e cinco milhões de euros dos bolsos do Senhor Peixe Graúdo.
Mas havia uma condição: Sam reservou-se o direito de escolher a hora e o sítio para a troca do dinheiro pela mercadoria. A hora, disse, seria às onze e meia da noite do dia seguinte. O sítio seria um armazém em Chelles, uma comuna sem graça a leste de Paris. Keller foi para lá de carro de manhã, ao mesmo tempo que o resto do norte de França se deslocava em catadupa para o centro da cidade. O armazém ficava onde Sam tinha dito, na Avenue François Mitterrand, mesmo em frente a um concessionário da Renault. Um letreiro já gasto dizia EUROTRANZ, embora não houvesse qualquer indicação do tipo de serviços que a empresa prestava de facto. Havia pombos a voar para dentro e fora do edifício, pelas janelas partidas; uma savana de ervas daninhas florescia atrás das grades da vedação de ferro. Keller saiu do carro e examinou o portão automático. Já há muito tempo que ninguém o abria.
Passou uma hora a fazer um reconhecimento de rotina das ruas à volta do armazém e depois seguiu para norte, para a quinta em Andeville. Quando lá chegou, deu com Gabriel e Chiara a descansarem no jardim banhado pelo sol. Os dois Van Gogh estavam encostados à parede da sala de estar.
— Continuo sem perceber como os consegues distinguir — disse Keller.
— É bastante evidente, não achas?
— Não, não acho.
Gabriel inclinou a cabeça para o quadro da direita.
— Tens a certeza?
— Aquilo são as minhas impressões digitais ali de lado, nas barras do suporte, e não as do Vincent. E depois há isto.
Gabriel ligou o BlackBerry que lhe tinha sido dado pelo Departamento e segurou-o junto ao canto superior direito da tela. O ecrã pôs-se a piscar com uma luz vermelha, dando conta da presença de um transmissor escondido.
— Tens a certeza do alcance? — perguntou Keller.
— Voltei a testá-lo hoje de manhã. É tão fiável como um relógio suíço num raio de dez quilómetros.
Keller olhou para o Van Gogh verdadeiro.
— É uma pena que ninguém se tenha lembrado de pôr nenhum transmissor naquele.
— Pois é — retorquiu Gabriel num tom distante.
— E quanto tempo tencionas ficar com ele?
— Nem mais um dia do que for necessário.
— E quem vai tomar conta dele enquanto andamos atrás da falsificação?
— Tinha esperanças de o deixar na embaixada de Paris — respondeu Gabriel —, mas o chefe de base não lhe quer nem tocar. Por isso, tive de tomar outras providências.
— Que género de providências?
Quando Gabriel lhe respondeu, Keller abanou a cabeça lentamente.
— É um bocadinho estranho, não achas?
— A vida é complicada, Christopher.
Keller sorriu.
— A quem o dizes.
Saíram pela última vez da pitoresca quinta às oito da noite. A cópia dos Girassóis ia na bagageira do Mercedes de Keller; o Van Gogh autêntico ia na de Gabriel. Entregou-o a Maurice Durand na loja deste, na Rue de Miromesnil. A seguir, deixou Chiara no apartamento seguro com vista para a Pont Marie e partiu para a comuna de Chelles.
Chegou lá uns minutos antes das onze e dirigiu-se para o armazém da Avenue François Mitterrand. Ficava numa parte da cidade onde havia pouca vida nas ruas quando caía à noite. Contornou a propriedade duas vezes, à procura de sinais de vigilância ou de qualquer coisa que indicasse que Keller estivesse prestes a cair numa armadilha. Ao não encontrar nada de anormal, foi à procura de um posto de observação adequado onde um homem sentado sozinho não fosse atrair a atenção da polícia. A única opção era um parque sem vegetação onde uma dezena de skaters durões da zona estavam a beber cerveja. Num dos lados do parque, havia uma fila de bancos iluminada por candeeiros amarelos. Gabriel estacionou o carro na rua e sentou-se no banco mais perto da entrada da Eurotranz. Os durões olharam-no com perplexidade durante um momento e depois recomeçaram a discutir os assuntos prementes daquele dia. Gabriel deu uma olhadela ao relógio. Eram onze e cinco. A seguir, consultou o BlackBerry. O sinal ainda não tinha entrado no raio de ação.
Quando olhou outra vez para cima, viu os faróis de um carro na avenida. Era um pequeno Citroën vermelho, que passou em grande velocidade à frente da entrada da Eurotranz e continuou a todo o gás pelo exterior do parque, deixando atrás de si o pulsar de um exemplo de hip-hop francês. A seguir vinha outro carro, um BMW preto, tão limpo que parecia acabadinho de lavar propositadamente para o efeito. Parou junto ao portão e o condutor saiu cá para fora. Era impossível ver-lhe a cara na escuridão, mas tanto quanto a constituição como quanto a movimentos era o sósia de Sam.
Carregou com o indicador nuns quantos botões do teclado automático, com a confiança de um homem que já sabia a combinação há muito tempo. Depois sentou-se de novo ao volante, ficou à espera que o portão se abrisse e entrou na propriedade. Parou para aguardar que o portão se fechasse e dirigiu-se para a entrada do armazém. Uma vez mais, saiu do carro e carregou nos botões do teclado de segurança com uma rapidez que indiciava um conhecimento profundo. Quando a porta se abriu, entrou com o carro lentamente e desapareceu de vista.
No parquezinho sem vegetação, a chegada de um automóvel de luxo ao armazém abandonado, na Avenue François Mitterrand, passou despercebida a toda a gente, com exceção do homem já perto da terceira idade que estava sentado sozinho. O homem olhou para o relógio e viu que eram 23h08. Depois olhou para o BlackBerry. A luzinha vermelha estava a piscar e a aproximar-se dele.
Keller chegou às onze e meia em ponto. Ligou para o telemóvel de Sam e o portão abriu-se. Um pedaço de asfalto esburacado estendia-se à frente dele, deserto e às escuras. Atravessou-o a pouca velocidade e, seguindo as instruções de Sam, entrou com o carro no armazém, lenta e cuidadosamente. Na outra ponta de um espaço do tamanho de um campo de futebol, brilhavam as luzes de presença de um BMW. Keller conseguiu distinguir a figura de um homem encostado ao capô, com um telefone colado ao ouvido e duas malas grandes aos pés. Não havia mais ninguém à vista.
— Pare aí — disse Sam.
Keller pisou o travão.
— Desligue o motor e apague os faróis.
Keller fez o que lhe mandaram.
— Saia do carro e deixe-se ficar onde eu o consiga ver.
Keller saiu do carro devagar e pôs-se à frente do capô. Sam esticou o braço para dentro do BMW e acendeu os faróis.
— Tire o casaco.
— Isto é mesmo necessário?
— Quer o dinheiro ou não?
Keller despiu o casaco e atirou-o para cima do capô do carro.
— Dê meia-volta para ficar virado para o carro.
Keller hesitou e depois ficou de costas para Sam.
— Muito bem.
Keller rodou lentamente até ficar outra vez virado para Sam.
— Onde está o quadro?
— Na bagageira.
— Tire-o de lá e ponha-o aí no chão, uns seis metros à frente do carro.
Keller abriu a bagageira utilizando o fecho interior e tirou de lá o quadro. Estava embalado numa capa protetora de papel vegetal e escondido dentro de um saco do lixo de tamanho industrial. Pousou-o no chão de betão do armazém, vinte passos à frente do Mercedes, e ficou à espera que Sam lhe desse a próxima instrução.
— Volte para o carro — disse a voz da outra ponta do armazém.
— Nem pensar — respondeu Keller para o brilho intenso dos faróis de Sam.
Seguiu-se um breve impasse. Foi então que Sam avançou, iluminado pela luz. Parou a cerca de um metro de Keller, olhou para baixo e fez uma careta.
— Preciso de o ver mais uma vez.
— Então sugiro que lhe tire o plástico. Mas tenha cuidado, Sam. Se acontecer alguma coisa a esse quadro, vou considerá-lo responsável.
Sam pôs-se de cócoras e tirou a tela do saco. A seguir, voltou o quadro para os faróis do carro e semicerrou os olhos para examinar melhor as pinceladas e a assinatura.
— E então? — perguntou Keller.
Sam olhou para as impressões digitais nas margens das barras do suporte e depois para as marcas do museu na parte de trás.
— Só um momento — disse em voz baixa. — Só um momento.
O carro de Keller saiu do armazém às 23h40. Quando chegou ao portão, este já estava aberto. Virou à direita e passou em grande velocidade à frente do banco onde Gabriel se encontrava sentado. Gabriel ignorou-o; estava a observar as luzes traseiras de um BMW a afastarem-se ao longo da Avenue François Mitterrand. Olhou para o BlackBerry e sorriu. Estavam em ação, pensou. Estavam sem dúvida em ação.
A luzinha vermelha do sinal ia piscando com a regularidade de uma pulsação. Foi deslizando pelo que faltava dos subúrbios parisienses e depois acelerou para leste, na A4, em direção a Reims. Gabriel seguiu-a à distância de um quilómetro e Keller fez o mesmo em relação a Gabriel. Falaram ao telefone uma única vez, uma conversa curta na qual Keller confirmou que o negócio se realizara sem problemas. Sam tinha o quadro; e Keller tinha o dinheiro de Sam. Estava escondido na bagageira do carro, dentro do saco do lixo que Gabriel utilizara para embrulhar a cópia dos Girassóis. Só lá não estava um maço de notas de cem euros, que se encontrava enfiado no bolso do casaco de Keller.
— E porque tens isso no bolso? — perguntou Gabriel.
— Dinheiro para a gasolina — respondeu Keller.
Cento e vinte quilómetros separavam os subúrbios a leste de Paris e Reims, uma distância que Sam percorreu em pouco mais de uma hora. Logo depois da cidade, a luzinha vermelha parou de repente na A4. Gabriel encurtou distâncias rapidamente e viu Sam a encher o depósito de gasolina numa estação de serviço da autoestrada. Ligou de imediato a Keller e disse-lhe para parar; depois, ficou à espera que Sam regressasse outra vez à A4. Passados uns momentos, os três carros já tinham retomado a formação original: Sam à frente, Gabriel a segui-lo à distância de um quilómetro e Keller a fazer o mesmo em relação a Gabriel.
Depois de Reims, continuaram mais para leste, passando por Verdun e Metz. A seguir, a A4 virou para sul e levou-os até Estrasburgo, a capital da região francesa da Alsácia e sede do Parlamento Europeu. Nos arredores da cidade, corriam as águas verde-acinzentadas do Reno. Uns minutos a seguir ao pôr do Sol, 25 milhões de euros em dinheiro vivo e uma cópia de uma obra-prima de Vincent van Gogh roubada entraram despercebidos na Alemanha.
A primeira cidade do lado alemão da fronteira era Kehl e depois de Kehl ficava a autoestrada A5. Sam seguiu-a até Karlsruhe; depois virou para a A8 e dirigiu-se para Estugarda. Quando chegou aos subúrbios a sudeste da cidade, apanhou o pior da hora de ponta matinal. Entrou na cidade a passo de caracol, pela Hauptstätterstrasse, e avançou a caminho de Stuttgart-Mitte, um bairro agradável de escritórios e lojas no coração da metrópole em expansão. Gabriel ficou com a sensação de que Sam se estava a aproximar do destino e, por isso, encurtou distâncias até ficarem separados por umas centenas de metros apenas. E foi então que aconteceu a coisa com que ele menos contava.
A luzinha vermelha a piscar sumiu-se do ecrã.
De acordo com o BlackBerry de Gabriel, o sinal transmitiu o último impulso eletrónico no número 8 da Böheimstrasse. A morada correspondia a um hotel de estuque cinzento que parecia ter sido importado de Berlim Oriental, nos tempos mais negros da Guerra Fria. Nas traseiras do hotel, acessível por uma ruela, ficava um parque de estacionamento público. O BMW encontrava-se no piso de baixo da garagem, num canto onde a luz do teto tinha sido partida. Sam estava esparramado sobre o volante, de olhos bem abertos, com o sangue e os miolos espalhados pelo para-brisas. E os Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, da autoria de Gabriel Allon, tinha desaparecido.
Saíram de Estugarda pelo mesmo percurso que tinham feito antes e entraram novamente em França, em Estrasburgo. Keller seguiu para a Córsega; Gabriel, para Genebra. Chegou a meio da tarde e telefonou de imediato para Christoph Bittel, de uma cabina telefónica junto ao lago. O polícia secreto não pareceu muito satisfeito por voltar a ter notícias dele tão depressa. E ficou ainda menos satisfeito quando Gabriel lhe explicou por que razão tinha regressado a Genebra.
— Está fora de questão — disse.
— Então suponho que vou ter de contar ao mundo que encontrei aqueles quadros todos naquela caixa-forte.
— Lá se vai o novo Gabriel Allon.
— A que horas devo contar contigo, Bittel?
— Vou ver o que posso fazer.
Bittel demorou uma hora a arrumar a secretária, no quartel-general do NDB, e mais duas a fazer a viagem de carro de Berna até Genebra. Gabriel estava à espera dele, numa esquina movimentada da Rue du Rhône. Passavam poucos minutos das seis. Executivos suíços todos aperaltados saíam em catadupa de elegantes prédios de escritórios; raparigas bonitas e estrangeiros bem-postos afluíam para dentro dos cafés reluzentes. Era tudo muito ordeiro. Até os assassinos em massa se comportavam quando vinham a Genebra.
— Ias explicar-me por que razão eu te devia abrir aquele cofre — disse Bittel ao voltar a entrar no trânsito do final da tarde, com a habitual cautela excessiva.
— Porque a operação que estou a fazer encontrou um obstáculo e, neste momento, não tenho mais ninguém a quem recorrer.
— Que tipo de obstáculo?
— Um cadáver.
— Onde? — Gabriel hesitou. — Onde? — perguntou Bittel de novo.
— Em Estugarda — respondeu Gabriel.
— Imagino que tenha sido aquele árabe que apanhou um tiro na cabeça hoje de manhã, no centro da cidade, não foi?
— Quem disse que ele era árabe?
— O BfV.
O BfV era o serviço de segurança interna alemão. Mantinha relações estreitas com os seus irmãos alemânicos de Berna.
— O que sabem eles dele? — perguntou Gabriel.
— Praticamente nada, e foi por isso que nos contactaram. Parece que os assassinos lhe levaram a carteira depois de lhe terem espetado o tiro.
— E não foi só isso que levaram.
— Foste responsável pela morte dele?
— Não tenho a certeza.
— Deixa-me pôr-te as coisas desta maneira, Allon: encostaste-lhe uma pistola à cabeça e carregaste no gatilho?
— Não sejas ridículo.
— Não é uma pergunta tão descabida quanto isso. Afinal de contas, até já tens um historialzinho no que toca a cadáveres em território europeu.
Gabriel não disse nada.
— E sabes como se chamava o homem que estava dentro do carro?
— Disse que se chamava Sam, mas tenho um pressentimento de que o nome verdadeiro era Samir.
— E o apelido?
— Não cheguei a apanhá-lo.
— Passaporte?
— Falava francês muito bem. Se tivesse de arriscar um palpite, era do Levante.
— Do Líbano?
— Se calhar. Ou, talvez, da Síria.
— E porque o mataram?
— Não tenho a certeza.
— És capaz de fazer melhor do que isso, Allon.
— É possível que ele tivesse em mãos um quadro muito parecido com os Girassóis do Vincent van Gogh.
— O que foi roubado de Amesterdão?
— Pedido emprestado — respondeu Gabriel.
— E quem pintou a falsificação?
— Eu.
— E por que razão o Sam a tinha?
— Vendi-lha por vinte e cinco milhões de euros.
Bittel praguejou entre dentes.
— Tu é que perguntaste, Bittel.
— E onde está o quadro?
— Qual quadro?
— O Van Gogh verdadeiro — disparou Bittel.
— Em boas mãos.
— E o dinheiro?
— Em mãos ainda melhores.
— E porque roubaste um Van Gogh e vendeste uma cópia a um árabe chamado Sam?
— Porque ando à procura de um Caravaggio.
— Para quem?
— Para os italianos.
— E porque anda um agente dos serviços secretos israelitas à procura de um quadro para os italianos?
— Porque tem dificuldades em dizer que não às pessoas.
— E se eu conseguir que tenhas acesso àquele cofre? O que esperas encontrar lá?
— Para te ser sincero, Bittel, não faço a mínima ideia.
Bittel soltou um suspiro profundo e pegou no telemóvel.
Fez dois telefonemas rápidos, um a seguir ao outro. O primeiro foi para a amiga bem-feita do Freeport. O segundo, para um serralheiro que de vez em quando fazia favores ao NDB na zona de Genebra. A mulher estava à espera ao portão quando lá chegaram; o serralheiro apareceu passada uma hora. Chamava-se Zimmer. Tinha uma cara redonda e afável e o olhar vítreo de um animal empalhado. A mão era tão fria e delicada que Gabriel a largou de imediato, com medo de a magoar.
Trazia com ele um pesado estojo retangular de cabedal preto, que segurou com firmeza ao atravessar, atrás de Bittel e Gabriel, a porta exterior da caixa-forte de Jack Bradshaw. Se tinha noção de que os quadros ali estavam, não deu qualquer indicação disso; só tinha olhos para o pequeno cofre no chão, ao lado da secretária. Fora construído por um fabricante alemão de Colónia. Zimmer estava a fazer uma careta, como se estivesse a contar encontrar qualquer coisa que lhe fosse dar um pouco mais de luta.
Tal como o restaurador, o serralheiro não gostava de ter pessoas a observá-lo a trabalhar. Por isso mesmo, Gabriel e Bittel foram obrigados a não sair da sala interior da caixa-forte que Yves Morel tinha utilizado como estúdio clandestino. Ficaram sentados no chão, com as costas coladas à parede e as pernas esticadas. Pelos sons que irradiavam da porta aberta, era evidente que Zimmer estava a utilizar uma técnica conhecida como perfuração do ponto fraco. O ar cheirava a metal quente. Lembrava a Gabriel o cheiro de uma pistola acabada de disparar. Olhou para o relógio e franziu o sobrolho.
— Quanto tempo é que isto vai demorar? — perguntou.
— Há cofres que são mais fáceis do que outros.
— É por isso que eu sempre preferi uma carga de explosivos plásticos no sítio certo. O Semtex é um ótimo nivelador.
Bittel sacou do telefone e passou em revista os e-mails que tinha recebido; Gabriel foi depenicando distraidamente a tinta da paleta de Yves Morel; ocre, dourado e carmesim… Por fim, uma hora depois de Zimmer ter começado a trabalhar, ouviu-se um forte baque metálico vindo da sala ao lado. O serralheiro surgiu à entrada, segurando o estojo em cabedal preto com firmeza, e assentiu com a cabeça uma vez para Bittel.
— Acho que sei como se sai daqui — disse.
E desapareceu.
Gabriel e Bittel levantaram-se e entraram na sala ao lado. O cofre tinha a porta ligeiramente entreaberta, dois ou três centímetros, não mais do que isso. Gabriel tentou agarrá-la, mas Bittel impediu-o.
— Eu trato disso.
Fez sinal para Gabriel se afastar. Depois abriu a porta do cofre e espreitou lá para dentro. Estava vazio, tirando um envelope branco do tamanho de uma carta. Bittel pegou nele e leu o nome escrito à frente.
— O que é isso? — perguntou Gabriel.
— Parece ser uma carta.
— Para quem?
Bittel mostrou-a a Gabriel e respondeu:
— Para ti.
Era mais um memorando do que uma carta, um relatório de campo pós-ação escrito por um espião caído em desgraça e de consciência pesada por culpa da traição. Gabriel leu-o duas vezes, a primeira enquanto ainda estava dentro da caixa-forte de Jack Bradshaw e a segunda sentado no átrio das partidas do Aeroporto Internacional de Genebra. Chamaram os passageiros para o voo dele poucos minutos depois das nove horas, primeiro em francês, depois, em inglês e, finalmente, em hebraico. O som da língua-mãe acelerou-lhe a pulsação. Enfiou a carta discretamente na maleta de fim de semana, levantou-se e embarcou no avião.
O prédio de apartamentos que ficava na ponta da Avenida Rei Saul era pardacento, indistinto e, melhor do que tudo o resto, anónimo. Não havia nenhuma insígnia pendurada por cima da porta de entrada, nenhum letreiro em bronze a proclamar quem ocupava o edifício. Na verdade, não havia absolutamente nada que sugerisse que se tratava do quartel-general de um dos serviços secretos mais temidos e respeitados do mundo. No entanto, um exame mais atento da estrutura teria revelado a existência de um edifício dentro de outro edifício, com o seu próprio abastecimento de energia, a sua própria canalização de água e de esgotos e o seu próprio sistema de comunicações seguro. Os funcionários traziam duas chaves: uma abria uma porta não identificada no átrio de entrada, a outra fazia funcionar o elevador. Quem cometesse o pecado imperdoável de perder uma ou ambas as chaves era desterrado para o deserto da Judeia, sem que ninguém o voltasse a ver ou a ter notícias dele.
Havia funcionários que eram demasiado importantes, ou cujo trabalho era demasiado confidencial, para aparecerem no átrio de entrada. Entravam no edifício secretamente, pela garagem subterrânea, conforme Gabriel fez trinta minutos após o voo dele de Genebra ter aterrado no Aeroporto Ben-Gurion. A comitiva que o acompanhava incluía um veículo a rebentar pelas costuras com uma equipa de segurança fortemente armada. Calculou que se tratasse de um sinal do que o aguardava no futuro.
Dois dos seguranças entraram com ele no elevador, que o levou a todo o gás para o último andar do edifício. Depois do vestíbulo, atravessou uma porta protegida por código que o deixou numa antessala onde uma mulher de trinta e muitos anos se encontrava sentada a uma secretária moderna, com uma superfície preta reluzente. A secretária só tinha um candeeiro e um telefone com multilinhas seguro; a mulher tinha pernas muito compridas e bronzeadas. Na Avenida Rei Saul era conhecida como Cúpula de Ferro, devido à capacidade sem igual para recusar os pedidos indesejados para falar com o chefe. O seu nome verdadeiro era Orit.
— Está numa reunião — disse, olhando de soslaio para a luzinha vermelha a brilhar por cima da impressionante porta dupla do chefe. — Sente-se. Não vai demorar muito.
— E ele sabe que eu aqui estou?
— Sabe, sim.
Gabriel sentou-se no que era muito possivelmente o sofá mais desconfortável de Israel inteiro e fitou a luzinha vermelha que brilhava intensamente por cima da porta. A seguir, olhou para Orit, que lhe sorriu pouco à vontade.
— Quer que lhe traga alguma coisa? — perguntou.
— Um aríete — respondeu Gabriel.
Por fim, a luz lá acabou por passar do vermelho para verde. Gabriel levantou-se depressa e entrou discretamente no gabinete, ao mesmo tempo que os participantes da recém-terminada reunião saíam em fila por uma segunda porta. Reconheceu dois. Um era Rimona Stern, chefe da equipa do Departamento que se dedicava ao programa nuclear iraniano. O outro era Mikhail Abramov, um agente de campo e pistoleiro que já tinha trabalhado de perto com Gabriel numa série de operações de extrema importância. O fato que trazia indiciava uma promoção recente.
Quando a porta se fechou, Gabriel virou-se lentamente e ficou de frente para a outra única pessoa que se encontrava no gabinete. O homem estava ao lado de uma secretária grande de vidro fumado, segurando um dossiê aberto. Trazia um fato cinzento que parecia ser um número abaixo do dele e uma camisa branca, com um colarinho alto, muito na moda, que lhe fazia parecer ter a cabeça aparafusada aos ombros poderosos. Tinha óculos pequenos e sem armação, do género dos usados pelos empresários alemães que querem parecer jovens e estilosos. O cabelo, ou o que restava dele, era escasso e grisalho.
— Desde quando o Mikhail vai a reuniões no gabinete do chefe? — perguntou Gabriel.
— Desde que eu o promovi — respondeu Uzi Navot.
— A quê?
— Chefe adjunto das Operações Especiais.
Navot baixou o dossiê e fez um sorriso falso.
— Importas-te que faça mudanças quanto ao pessoal, Gabriel? Afinal de contas, ainda tenho mais um ano como chefe.
— Eu tinha planos para ele.
— Que tipo de planos?
— Por acaso, até o ia pôr à frente das Operações Especiais.
— O Mikhail? Ainda não está preparado, nem por sombras.
— Vai safar-se lindamente, desde que tenha um organizador de operações experiente a espreitar-lhe por cima do ombro.
— Uma pessoa como tu? — Gabriel ficou calado. — Então e em relação a mim? — perguntou Navot. — Já decidiste o que vais fazer?
— Depende inteiramente de ti.
— É óbvio que não.
Navot deixou cair o dossiê em cima da secretária e carregou num botão do painel de comando que fez as persianas começarem a descer lentamente sobre as janelas à prova de bala que iam do chão até ao teto. Ficou ali em silêncio durante um momento, aprisionado por grades de sombra. Gabriel teve um vislumbre de um retrato pouco agradável do seu próprio futuro, um homem cinzento numa jaula cinzenta.
— Tenho de admitir — soltou Navot — que tenho imensa inveja de ti. O Egito está a entrar numa guerra civil, a Al-Qaeda domina uma extensão de território que vai de Fallujah até ao Mediterrâneo e um dos conflitos mais sangrentos dos tempos modernos está em plena ebulição na nossa fronteira norte. E, mesmo assim, ainda tens tempo para andar atrás de uma obra-prima roubada para o governo italiano.
— A ideia não foi minha, Uzi.
— Ao menos, podias ter tido a cortesia de pedir a minha aprovação quando o homem dos Carabinieri veio ter contigo.
— E ter-ma-ias dado?
— Claro que não.
Navot passou lentamente pela comprida mesa de reuniões, a caminho da confortável zona de estar. Havia imagens de estações televisivas do mundo inteiro a passar sem som nos monitores de vídeo na parede; e havia jornais do mundo inteiro meticulosamente dispostos em cima da mesinha de apoio.
— Ultimamente, a polícia tem andado bastante ocupada na Europa — disse ele. — Um britânico expatriado assassinado no lago Como, uma obra-prima do Van Gogh roubada e agora isto.
Pegou num exemplar do Die Welt e mostrou-o a Gabriel.
— Um árabe morto no meio de Estugarda. Três acontecimentos sem ligação aparente, mas com uma coisa em comum. — Navot deixou cair o jornal em cima da mesinha. — Gabriel Allon, o futuro chefe dos serviços secretos israelitas.
— Duas coisas, por acaso.
— E qual é a segunda?
— A LXR Investments of Luxembourg.
— E quem é o dono da LXR?
— O pior homem do mundo.
— E esse tipo está na folha de pagamentos do Departamento?
— Não, Uzi — respondeu Gabriel, com um sorriso. — Ainda não.
Navot conhecia os pormenores gerais da busca de Gabriel do Caravaggio desaparecido, pois tinha-a acompanhado à distância: reservas de avião, despesas com cartões de crédito, travessias de fronteiras, pedidos de propriedades seguras, relatos nas notícias de uma obra-prima que se sumira. Naquele momento, sentado no gabinete que em breve seria seu, Gabriel completou-lhe o quadro, começando com a convocatória efetuada pelo general Ferrari, em Veneza, e terminando com a morte de um homem chamado Sam, em Estugarda — um homem que tinha acabado de pagar vinte e cinco milhões de euros pelos Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, da autoria de Gabriel Allon. A seguir, mostrou as três páginas da carta que Jack Bradshaw lhe tinha deixado no Freeport de Genebra.
— O nome verdadeiro do Sam era Samir Basara. O Bradshaw conheceu-o quando estava a trabalhar em Beirute. O Samir era o protótipo do fura-vidas. Drogas, armas, raparigas, todas as coisas que tornavam a vida interessante num sítio como Beirute, nos anos oitenta. Só que afinal o Samir não era realmente libanês. O Samir era da Síria e estava a trabalhar para os serviços secretos sírios.
— E ainda estava a trabalhar para eles quando o mataram?
— Completamente — respondeu Gabriel.
— A fazer o quê?
— A comprar arte roubada.
— Ao Jack Bradshaw?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— O Samir e o Bradshaw reativaram a relação deles há catorze meses num almoço em Milão. O Samir tinha uma proposta de negócio. Disse que tinha um cliente, um empresário rico do Médio Oriente, que estava interessado em adquirir quadros. Passadas umas semanas, o Bradshaw recorreu aos contactos que tinha nos cantos escuros do mundo da arte para conseguir um Rembrandt e um Monet, que por acaso tinham sido roubados. Mas isso não incomodou o Samir. Aliás, até gostou bastante. Deu ao Bradshaw cinco milhões de dólares e disse-lhe para arranjar mais.
— E como pagava os quadros?
— Enviava o dinheiro para a empresa do Bradshaw por via de uma coisa chamada LXR Investments of Luxembourg.
— E quem é o dono da LXR Investments?
— Já lá vou chegar — respondeu Gabriel.
— E por que razão o Sam queria quadros roubados?
— Também já lá vou chegar. — Gabriel olhou para a carta. — Foi nesta altura que o Jack Bradshaw começou a comprar coisas a torto e a direito para o novo cliente ricaço… uns quantos Renoir, um Matisse, um Corot que tinha sido roubado do Montreal Museum of Fine Arts, em 1972. E também adquiriu vários quadros italianos importantes que não eram para ter saído do país. Mas, mesmo assim, o Samir não estava satisfeito. Disse que o cliente queria uma coisa grande. E foi então que o Bradshaw sugeriu o santo graal dos quadros desaparecidos.
— O Caravaggio?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— E onde estava?
— Continuava na Sicília, nas mãos da Cosa Nostra. O Bradshaw foi a Palermo tratar do negócio. Passados aqueles anos todos, os mafiosi até ficaram contentes por se livrarem do quadro. O Bradshaw fê-lo entrar clandestinamente na Suíça, no meio de um carregamento de carpetes. Escusado será dizer que o retábulo não estava em lá grande estado quando chegou. Ficou com cinco milhões de euros do Samir como sinal e contratou um falsificador francês para pôr a Natividade outra vez apresentável. Mas aconteceu uma coisa antes de poder finalizar a venda.
— E o que foi?
— Descobriu quem estava a comprar realmente os quadros.
— E quem era?
Antes de responder, Gabriel voltou a uma pergunta que Navot tinha feito uns minutos antes. Por que razão estava o cliente rico de Samir Basara à procura de quadros roubados? Para responder a isso, Gabriel explicou-lhe primeiro as quatro categorias fundamentais de ladrões de arte: o amante de arte sem dinheiro, o falhado incompetente, o profissional e o membro do crime organizado. Este último, afirmou, era responsável pela maior parte dos roubos mais importantes. Por vezes, tinha um comprador à espera, mas era frequente os quadros roubados acabarem por ser utilizados como uma forma de dinheiro do submundo, cheques de viagem para a classe criminosa. Um Monet, por exemplo, podia servir de garantia para um carregamento de armas russas; um Picasso, para heroína turca. Mais tarde ou mais cedo, alguma das pessoas por quem o quadro ia passando acabaria por resolver receber o dinheiro a que tinha direito, normalmente com a ajuda de um recetador com conhecimentos como Jack Bradshaw. Um quadro no valor de 200 milhões de dólares no mercado legal valeria 20 milhões no mercado negro. Vinte milhões que nunca poderiam ser localizados, acrescentou Gabriel. Vinte milhões que nunca poderiam ser congelados pelos governos dos Estados Unidos e da União Europeia.
— Estás a ver onde quero chegar com isto, Uzi?
— E quem é ele? — perguntou Uzi de novo.
— É um homem que tem presidido a uma guerra civil bastante desagradável, um homem que tem recorrido sistematicamente à tortura, fogo de artilharia indiscriminado e ataques com armas químicas contra o próprio povo. Viu o Hosni Mubarak ser enfiado numa jaula e o Muammar Khadafi linchado por uma populaça sedenta de sangue. Por isso, anda preocupado com o que lhe poderá acontecer se for derrubado, razão pela qual pediu ao Samir Basara para preparar um pequeno pé-de-meia para ele e para a família.
— Estás a dizer que o Jack Bradshaw andava a vender quadros roubados ao presidente da Síria?
Gabriel olhou para as imagens que passavam nos monitores de vídeo na parede de Navot. O regime tinha acabado de bombardear um bairro de Damasco nas mãos dos rebeldes. O número de mortos era incalculável.
— O presidente sírio e o clã dele têm uma fortuna de milhares de milhões — disse Navot.
— É verdade — respondeu Gabriel. — Mas os americanos e a União Europeia andam a congelar os ativos dele e os dos assessores mais próximos onde quer que os encontrem. Até a Suíça já congelou ativos sírios no valor de centenas de milhões.
— Mas a maior parte dessa fortuna continua por aí algures.
— Por enquanto — retorquiu Gabriel.
— E porque não barras de ouro ou cofres-fortes cheios de dinheiro? Porquê quadros?
— Imagino que ele também tenha ouro e dinheiro. Afinal de contas, como qualquer consultor para investimento te dirá, a diversidade é a chave para o êxito a longo prazo. Mas se fosse eu que estivesse a aconselhar o presidente sírio — acrescentou Gabriel —, dizia-lhe para investir em ativos fáceis de esconder e de transportar.
— Quadros? — perguntou Navot.
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Se comprar um quadro no mercado negro por cinco milhões, pode vendê-lo mais ou menos pelo mesmo preço, descontando as comissões para o intermediário, claro. É um preço bastante pequeno a pagar por dezenas de milhões em dinheiro impossível de localizar.
— Muito engenhoso.
— Nunca ninguém os acusou de serem estúpidos, só impiedosos e brutais.
— E quem matou o Samir Basara?
— Se tivesse de arriscar um palpite, diria que foi uma pessoa que o conhecia. — Gabriel fez uma pausa e depois acrescentou: — Uma pessoa que estava sentada no banco de trás do carro quando carregou no gatilho.
— Uma pessoa dos serviços secretos sírios?
— É assim que costuma funcionar.
— E porque o mataram?
— Se calhar, sabia demasiado. Ou, se calhar, estavam zangados com ele.
— Porquê?
— Por ter deixado que o Jack Bradshaw descobrisse demasiadas coisas sobre as finanças pessoais da família do presidente.
— E o que sabia ele?
Gabriel mostrou a carta e respondeu:
— Imenso, Uzi.
— E o que achas que o Bradshaw fez ao Caravaggio?
— Deve tê-lo levado para a villa dele no lago Como — respondeu Gabriel. — E depois pediu ao Oliver Dimbleby para ir ter com ele a Itália para dar uma vista de olhos à coleção. Era uma artimanha, uma operação inteligente concebida por um antigo espião britânico. O que ele queria realmente era que o Oliver transmitisse uma mensagem ao Julian Isherwood, que por seu turno a ia transmitir a mim. Mas não correu conforme planeado. O Oliver acabou por pedir ao Julian para ir a Como. E quando ele lá chegou, o Bradshaw já estava morto.
— E o Caravaggio tinha desaparecido?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— E por que razão o Bradshaw te queria falar a ti da ligação com o presidente sírio?
— Imagino que achasse que eu ia tratar do assunto com discrição.
— Ou seja?
— Que não ia dizer à polícia britânica nem italiana que ele era contrabandista e recetador — respondeu Gabriel. — Tinha esperanças de se encontrar comigo cara a cara. Mas deu-se ao cuidado de pôr tudo o que sabia por escrito e de o guardar no Freeport.
— Com uma série de quadros roubados?
Gabriel assentiu mais uma vez.
— E porque mudou de ideias de repente? Porque não aceitou o dinheiro manchado de sangue do presidente e se contentou com isso?
— Nicole Devereaux.
Navot semicerrou os olhos pensativamente.
— Porque é que esse nome me diz qualquer coisa?
— Era a fotógrafa da AFP que foi raptada e morta em Beirute, nos anos oitenta — respondeu Gabriel. Contou o resto da história a Navot: o caso amoroso, o recrutamento pelo KGB, o meio milhão numa conta bancária suíça. — O Bradshaw nunca se perdoou pela morte da Nicole — acrescentou. — E não há dúvida de que nunca perdoou o regime sírio por a ter matado.
Navot ficou calado durante um momento.
— O teu amigo Jack Bradshaw fez muitas coisas parvas na vida — disse por fim. — Mas a coisa mais estúpida que fez foi aceitar cinco milhões de euros da família do presidente sírio por um quadro que não chegou a entregar. Só há uma coisa que a família detesta mais do que a deslealdade e que são as pessoas que lhe tentam ficar com o dinheiro. — Navot olhava as imagens que se iam desenrolando nos monitores de vídeo na parede. — Se queres saber a minha opinião — disse ele —, todo este exercício de depravação humana tem que ver precisamente com isso. Cento e cinquenta mil mortos e milhões de desalojados. E para quê? Por que razão a família do presidente se está a tentar aguentar com unhas e dentes? Porque andam a matar a uma escala industrial? Pela fé? Pelo ideal sírio? Não existe ideal sírio. Com toda a sinceridade, já não existe Síria. E, mesmo assim, a matança continua, por uma só razão apenas.
— Dinheiro — disse Gabriel. — Navot assentiu com a cabeça lentamente. — Pareces ter conhecimentos especiais sobre a situação na Síria, Uzi.
— Por acaso, sou casado com a principal especialista do país em assuntos relacionados com a Síria e o movimento Baath. — Fez uma pausa antes de acrescentar: — Mas a verdade é que já sabias isso.
Navot levantou-se, aproximou-se do aparador e serviu-se de uma chávena de café do termos de êmbolo. Gabriel reparou que não havia nata nem biscoitos de manteiga vienenses, duas coisas a que Navot era incapaz de resistir. Agora, bebia café simples, sem outro acompanhamento que não uma pastilha de adoçante branca, que disparou de um distribuidor automático de plástico para dentro da chávena.
— Desde quando pões cianeto no café, Uzi?
— A Bella anda a tentar desmamar-me do açúcar. E a seguir é a cafeína.
— Nem consigo imaginar tentarmos fazer este trabalho sem cafeína.
— Não tarda muito vais ver como é.
Navot sorriu contra vontade e voltou a sentar-se. Gabriel estava a olhar para os monitores de vídeo. O corpo de uma criança — rapaz ou rapariga, era impossível perceber — estava a ser retirado dos escombros. Uma mulher chorava. Um homem com barba gritava por vingança.
— E de quanto estamos a falar? — perguntou.
— Dinheiro?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Dez mil milhões é o valor que costuma ser atirado pelos jornais — respondeu Navot —, mas nós achamos que esse valor é na verdade muito mais alto. E está tudo nas mãos do Kemel al-Farouk. — Olhou para Gabriel de soslaio e perguntou: — Conheces o nome?
— A Síria não é o meu pelouro, Uzi.
— Não tarda muito vai ser. — Outro sorriso ténue antes de prosseguir: — O Kemel não faz verdadeiramente parte da família do presidente, mas passou a vida inteira a trabalhar para ela. Começou como guarda-costas do pai do presidente. No final dos anos setenta, o Kemel levou um tiro pelo velho e o pai do presidente nunca se esqueceu disso. Deu ao Kemel um cargo importante na Mukhabarat, onde ele ganhou a reputação de ser um interrogador feroz dos prisioneiros políticos. Costumava pregar os membros da Irmandade Muçulmana à parede só para se divertir.
— E onde está ele agora?
— O cargo oficial dele é ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros mas, em muitos aspetos, é ele quem manda no país e na guerra. O presidente nunca decide nada sem falar primeiro com o Kemel. E, talvez mais importante ainda, é o Kemel quem toma conta do dinheiro. Empatou parte da fortuna em Moscovo e Teerão, mas nunca na vida ia confiar tudo aos russos e aos iranianos. Achamos que tem alguém a trabalhar para ele na Europa Ocidental, a esconder o máximo de ativos possível. O que não sabemos — ressalvou Navot — é quem essa pessoa é nem onde anda a esconder o dinheiro.
— Graças ao Jack Bradshaw, já sabemos que uma parte está na LXR Investments. E agora podemos utilizar a LXR como janela para o resto dos ativos da família.
— E a seguir? — Gabriel ficou calado. Navot ficou a ver mais um corpo a ser retirado dos escombros em Damasco. — Para os israelitas, é difícil ver cenas destas — disse passado um momento. — Sentimo-nos incomodados. Traz-nos más recordações. O nosso instinto natural é matar o monstro antes que o monstro possa fazer mais mal. Mas o Departamento e as Forças de Defesa de Israel concluíram que, para já, é melhor deixar o monstro onde está, já que a alternativa podia ser pior. E os americanos e os europeus chegaram à mesma conclusão, apesar de todas as conversas otimistas sobre a negociação de um acordo. Ninguém quer que a Síria caia nas mãos da Al-Qaeda, mas é isso que vai acontecer se a família do presidente desaparecer.
— Grande parte da Síria já é dominada pela Al-Qaeda.
— É verdade — concordou Navot. — E o contágio está a espalhar-se. Há umas semanas, uma delegação de chefes dos serviços secretos europeus foi a Damasco com uma lista dos cidadãos muçulmanos dos respetivos países que viajaram para a Síria para se juntarem à jihad. Podia ter-lhes dado mais uns nomes, mas não me convidaram para a festa.
— Que grande surpresa.
— Provavelmente, até foi melhor eu não ter ido. Da última vez que estive em Damasco, viajei com um nome diferente.
— De quem?
— Do Vincent Laffont.
— O escritor de viagens? — Navot assentiu com a cabeça. — Sempre foi um dos meus preferidos — disse Gabriel.
— E meu também. — Navot pousou a chávena de café na mesinha. — O Departamento nunca teve pruridos em cometer um crime ou outro para ajudar uma operação que era moral e justa. Mas se entrarmos a matar no sistema bancário internacional, as repercussões podem ser desastrosas.
— A família do presidente sírio não conseguiu esses ativos de forma honesta, Uzi. Há já duas gerações que andam a saquear a economia.
— Mas isso não quer dizer que os possamos simplesmente roubar.
— Pois não — respondeu Gabriel, fingindo contrição. — Isso seria errado.
— Então o que estás a sugerir?
— Congelamo-los.
— Como?
Gabriel sorriu e respondeu:
— À maneira do Departamento.
— Então e os nossos amigos em Langley? — perguntou Navot depois de Gabriel terminar a explicação.
— O que tem?
— Não podemos iniciar uma operação destas sem o apoio da CIA.
— Se dissermos à CIA, a CIA vai dizer à Casa Branca. E depois vai aparecer na primeira página do New York Times.
Navot sorriu.
— Agora só precisamos da aprovação do primeiro-ministro e do dinheiro para executar a operação.
— Já temos dinheiro, Uzi. Uma data dele.
— Os vinte e cinco milhões que fizeste com a venda do Van Gogh falso?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— A beleza desta operação é essa — disse. — É autofinanciada.
— E onde está o dinheiro agora?
— É capaz de estar na bagageira do carro do Christopher Keller.
— Na Córsega.
— Receio bem que sim.
— Vou mandar um bodel ir buscá-lo.
— O grande Don Orsati não lida com correios, Uzi. Ia achar isso tremendamente insultuoso.
— Então o que sugeres?
— Vou eu buscar o dinheiro mal tenha a operação em andamento, embora seja possível que tenha de lá deixar ficar um pequeno tributo ao don.
— Pequeno, como?
— Dois milhões devem deixá-lo satisfeito.
— Isso é bastante dinheiro.
— Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara.
— Isso é algum provérbio judeu?
— É capaz, Uzi.
Já só faltava por isso tratar da composição da equipa para a operação de Gabriel. Rimona Stern e Mikhail Abramov eram indispensáveis, afirmou. E o mesmo se aplicava a Dina Sarid, Yossi Gavish e Yaakov Rossman.
— Está fora de questão levares o Yaakov numa altura destas — opôs-se Navot.
— E porquê?
— Porque é o Yaakov quem anda a seguir os mísseis e as outras guloseimazinhas todas que andam a passar dos sírios para os amigos deles do Hezbollah.
— O Yaakov consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo.
— E mais quem?
— Preciso do Eli Lavon.
— Ele ainda anda a escavar por baixo da Muralha Ocidental.
— Amanhã à tarde, já vai estar a escavar outra coisa.
— E é só?
— Não — respondeu Gabriel. — Preciso de mais outra pessoa para fazer uma operação destas.
— De quem?
— Da principal especialista do país em assuntos relacionados com a Síria e o movimento Baath.
Navot sorriu.
— Se calhar, é melhor levares um par de guarda-costas, só para jogar pelo seguro.
Os Navot viviam na ponta leste de Petah Tikva, numa rua sossegada onde as casas se encontravam escondidas atrás de muros de betão e buganvílias. Ao lado do portão metálico, havia um intercomunicador que fez barulho sem que ninguém atendesse quando Gabriel carregou no botão. Ficou a olhar diretamente para a objetiva da câmara de segurança e voltou a carregar no botão. Desta vez, ouviu-se a voz de uma mulher pelo intercomunicador.
— Quem é?
— Sou eu, Bella. Abre o portão.
Seguiu-se mais um silêncio, quinze segundos, talvez mais, e só depois o trinco se abriu com um baque. Quando o portão cedeu, surgiu a casa, uma estrutura cubista com janelas grandes com proteção antiestilhaços e uma antena de comunicações seguras a sair do telhado. Bella estava à sombra do pórtico, de braços cruzados, numa postura defensiva. Trazia calças de seda brancas e uma blusa amarela presa com um cinto à cintura esbelta. Parecia ter acabado de pintar e arranjar o cabelo escuro. Segundo os rumores que se ouviam no Departamento, tinha todas as manhãs uma marcação no salão mais exclusivo de Telavive.
— É preciso teres muita lata para aparecer nesta casa, Gabriel.
— Vá lá, Bella. Vamos tentar ser educados.
Ela deixou-se ficar no mesmo sítio mais um momento e depois afastou-se e convidou-o a entrar, fazendo um gesto de indiferença com a mão. Tinha decorado as divisões como tinha decorado o marido: cinzentas, vistosas, modernas. Gabriel seguiu-a, atravessando a cozinha de cromados muito brilhantes e granito preto envernizado e entrando no terraço das traseiras, onde um almoço israelita ligeiro o esperava. A mesa estava à sombra, mas o sol brilhava intensamente no jardim. Era só laguinhos e fontes gorgolejantes. Gabriel lembrou-se subitamente de que Bella sempre tinha adorado o Japão.
— Adoro a maneira como arranjaste este sítio, Bella.
— Senta-te — foi a única resposta dela.
Gabriel sentou-se numa cadeira de jardim almofadada. Serviu-lhe um copo alto de sumo de citrinos e pousou-o com decoro à frente dele.
— Já pensaste onde vais viver com a Chiara quando passares a ser o chefe? — perguntou.
Gabriel não conseguiu perceber se a pergunta era sincera ou maliciosa. Resolveu responder com franqueza.
— A Chiara acha que precisamos de viver perto da Avenida Rei Saul — disse —, mas eu preferia ficar em Jerusalém.
— Ainda é uma distância grande.
— Não sou eu quem vai guiar. — A cara dela retesou-se. — Desculpa, Bella. Isto não saiu como eu queria.
Ela não respondeu de forma direta.
— Na verdade, nunca gostei de estar em Jerusalém. Está um bocadinho perto demais de Deus para o meu gosto. Gosto de estar aqui, no meu suburbiozinho secular.
Instalou-se silêncio entre ambos. Sabiam bem por que razão Gabriel preferia Jerusalém a Telavive.
— Desculpa nunca te ter chegado a enviar a ti e à Chiara um cartão por causa da gravidez. — Conseguiu esboçar um sorriso. — Deus sabe como vocês os dois merecem um pouco de felicidade depois de tudo aquilo por que já passaram.
Gabriel assentiu com a cabeça e murmurou qualquer coisa apropriada. Bella nunca enviara nenhum cartão, pensou, por estar demasiado zangada para isso. Tinha uma veia rancorosa. Era uma das suas qualidades mais enternecedoras.
— Acho que devíamos falar, Bella.
— Pensava que era o que estávamos a fazer.
— Falar a sério — retorquiu ele.
— Se calhar, era melhor comportarmo-nos como as personagens de um daqueles mistérios de sala de estar que dão na BBC. Senão, ainda sou capaz de dizer alguma coisa de que depois me vou arrepender.
— Há uma razão para esses programas nunca se passarem em Israel. Nós não falamos dessa maneira.
— Se calhar, devíamos.
Pegou num prato e começou a enchê-lo de comida para Gabriel.
— Não tenho fome, Bella.
Largou o prato em cima da mesa.
— Estou zangada contigo, raios partam!
— Já tinha ficado com essa impressão.
— Porque estás a roubar o lugar ao Uzi?
— Não estou.
— Então o que chamas a isso?
— Não tive escolha na matéria.
— Podias ter-lhes dito que não.
— E tentei. Mas não funcionou.
— Devias ter tentado mais.
— Não tive culpa, Bella.
— Eu sei, Gabriel. Tu nunca tens culpa de nada. — Olhou para as fontezinhas do jardim. Pareceram acalmá-la momentaneamente. — Nunca me vou esquecer da primeira vez que te vi — disse por fim. — Estavas a atravessar sozinho um corredor dentro da Avenida Rei Saul, pouco depois de Tunes. Tinhas exatamente o mesmo aspeto que tens agora, esses olhos verdes, essas têmporas grisalhas. Eras como um anjo, o anjo da vingança de Israel. Toda a gente te adorava. O Uzi venerava-te.
— Não exageremos, Bella.
Foi como se não o tivesse ouvido.
— E depois aconteceu Viena — recomeçou passado um momento. — Foi um cataclismo, um desastre de proporções bíblicas.
— Já todos perdemos gente de quem gostávamos, Bella. Já todos sofremos.
— É verdade, Gabriel. Mas Viena foi diferente. Nunca mais foste o mesmo depois de Viena. Nenhum de nós foi.
Fez uma pausa, antes de acrescentar:
— Sobretudo o Shamron.
Gabriel acompanhou o olhar de Bella, em direção ao brilho ofuscante do jardim, mas, por um momento, viu-se a atravessar o pátio da Academia de Artes e Design de Bezalel, em Jerusalém. No mês de setembro de 1972, poucos dias depois do assassínio de onze atletas e treinadores israelitas nas Olimpíadas de Munique. De repente surgiu aparentemente do nada um homem que parecia uma pequena barra de ferro, com uns óculos pretos horrendos e dentes que lembravam uma armadilha de aço. O homem não disse como se chamava, já que tal não era necessário. Era aquele de quem se falava apenas em sussurros.
Era quem roubara os segredos que levaram à vitória-relâmpago de Israel na Guerra dos Seis Dias. Quem arrancara Adolf Eichmann, o diretor-geral do Holocausto, de uma esquina na Argentina.
Shamron…
— O Ari acha-se responsável pelo que te aconteceu em Viena — estava a dizer Bella. — E também nunca se perdoou realmente por isso. A seguir, tratou-te como um filho. Deixou-te sair e entrar consoante te apetecesse. Mas nunca perdeu as esperanças de que um dia regressasses a casa para assumir o comando do Departamento que ele tanto adora.
— E sabes quantas vezes eu recusei esse cargo?
— As suficientes para que o Shamron acabasse por oferecê-lo ao Uzi. Ficou com o cargo como prémio de consolação.
— Por acaso, até fui eu quem sugeriu que o Uzi passasse a ser o chefe.
— Como se o cargo fosse teu para o atribuíres. — Fez um sorriso amargo. — E o Uzi nunca te disse que eu o aconselhei a não aceitar o cargo?
— Não, Bella. Nunca me falou disso.
— Eu sempre soube que isto ia acabar assim. Devias ter saído de cena com graciosidade e ficado na Europa. Mas o que foste fazer? Introduziste um carregamento de centrifugadoras sabotadas na cadeia de fornecimento nuclear do Irão e destruíste quatro instalações secretas de enriquecimento de urânio.
— Essa operação foi feita durante o mandato do Uzi.
— Mas era a tua operação. Na Avenida Rei Saul, toda a gente sabe que a operação era tua, e o mesmo vale para a Rua Kaplan.
A Rua Kaplan era onde ficava o gabinete do primeiro-ministro. A julgar por todas as informações disponíveis, Bella visitava-o com imensa frequência. Gabriel sempre desconfiara que a influência dela na Avenida Rei Saul não se esgotava na mobília do gabinete do marido.
— O Uzi tem sido um bom chefe — disse ela. — O raio de um ótimo chefe. Só teve um defeito. Era não seres tu, Gabriel. E nunca o vai ser. E, por causa disso, estão a descartá-lo.
— Se eu tiver alguma coisa a dizer na matéria, não.
— Não fizeste já que chegue?
Ouviu-se um telefone tocar dentro de casa. Bella não manifestou interesse em ir atender.
— Porque vieste cá? — perguntou.
— Quero falar contigo do futuro do Uzi.
— Graças a ti, não tem nenhum.
— Bella…
Não se deixou suavizar, tão cedo, não.
— Se tens alguma coisa a dizer sobre o futuro do Uzi, se calhar o melhor é falares com ele.
— Achei que ia ser mais produtivo se passasse por cima dele.
— Não me tentes lisonjear, Gabriel.
— Nem em sonhos.
Bateu com a unha do indicador no tampo da mesa. Tinha uma camada nova de verniz.
— Ele falou-me da conversa que vocês tiveram em Londres quando andavam à procura daquela rapariga que tinha sido raptada. Escusado será dizer que não achei grande coisa da tua proposta.
— E porque não?
— Porque não há nenhum precedente para isso. Mal o mandato de um chefe termina, esse chefe desaparece noite dentro e nunca mais se volta a ouvir falar dele.
— Diz isso ao Shamron.
— O Shamron é diferente.
— E eu também.
— E o que estás a propor ao certo?
— Que comandemos o Departamento em conjunto. Eu passo a ser o chefe e o Uzi torna-se meu adjunto.
— Isso nunca vai funcionar.
— Porquê?
— Porque vai dar a impressão de que não estás à altura do cargo.
— Ninguém acha isso.
— As aparências importam.
— Deves estar a confundir-me com outra pessoa, Bella.
— Com quem?
— Com uma pessoa que se importa com as aparências.
— E se ele aceitar?
— Fica com um gabinete ao lado do meu. E vai estar envolvido em todas as decisões-chave, em todas as operações importantes.
— E em relação ao ordenado?
— Fica com o ordenado completo, já para não falar do carro nem da equipa de segurança.
— Porquê? — perguntou ela. — Porque estás a fazer isto?
— Porque preciso dele, Bella. — Fez uma pausa e depois acrescentou: — E de ti também.
— De mim?
— Quero que voltes para o Departamento.
— Quando?
— Amanhã de manhã, às dez. O Uzi e eu vamos executar uma operação contra os sírios. E precisamos da tua ajuda.
— Que género de operação?
Quando Gabriel lhe explicou, ela fez um sorriso triste.
— É uma pena que o Uzi nunca tenha pensado nisso — disse. — Se calhar, ainda podia ser o chefe.
Passaram a hora seguinte no jardim de Bella, a negociar os termos do regresso dela à Avenida Rei Saul. Depois, foi com ele lá fora e acompanhou-o até ao banco de trás do carro oficial dele.
— Fica-te bem — disse, com a porta do carro ainda aberta.
— O quê, Bella?
Ela sorriu e disse:
— Até amanhã de manhã, Gabriel.
Deu meia-volta e desapareceu. Um guarda-costas fechou a porta do carro; e outro entrou para o lugar do passageiro. Gabriel deu conta subitamente de que não estava armado. Ficou ali sentado um momento a pensar para onde devia ir a seguir. Depois espreitou para o retrovisor e deu ao motorista uma morada em Jerusalém Ocidental. Tinha de resolver mais um assunto desagradável antes de voltar para casa. Tinha de dizer a um fantasma que ia ser pai outra vez.
O minúsculo caminho de entrada circular do Hospital Psiquiátrico do Monte Herzl vibrou sob o peso da coluna de três carros de Gabriel. Saiu do banco de trás da limusina e, depois de dizer umas palavras secas ao chefe da equipa de segurança, entrou sozinho no hospital. No átrio, à espera dele, estava um médico barbudo, com ar de rabi, de cinquenta e muitos anos. Estava a fazer um sorriso simpático, apesar de, como de costume, ter sido avisado em cima da hora de que Gabriel vinha a caminho. Estendeu-lhe a mão e observou a agitação na entrada normalmente sossegada da instalação mais privada de Israel para pacientes mentais de longa data.
— Parece que a sua vida está prestes a mudar outra vez — disse o médico.
— De várias maneiras — respondeu Gabriel.
— Para melhor, espero.
Gabriel assentiu. Depois, contou ao médico acerca da gravidez. O médico sorriu, mas apenas por breves instantes. Tinha testemunhado o longo conflito de Gabriel sobre a decisão de voltar ou não a casar. Sabia que, para ele, a paternidade seria uma faca de dois gumes.
— E ainda por cima gémeos. Bom — acrescentou o médico, lembrando-se de sorrir outra vez —, não há dúvida de que você…
— Preciso de lhe contar — disse Gabriel, interrompendo-o. — Já adiei isso muito tempo.
— Não é necessário.
— É.
— Ela não vai perceber, tudo, não.
— Eu sei.
O médico sabia que não valia a pena insistir no assunto.
— Se calhar, é melhor eu ficar consigo — disse. — Para seu bem e para o dela.
— Obrigado — respondeu Gabriel —, mas tenho de fazer isto sozinho.
Sem mais uma palavra, o médico deu meia-volta e levou Gabriel por um corredor em calcário de Jerusalém, até uma sala de convívio onde alguns doentes olhavam inexpressivamente para uma televisão. Havia duas grandes janelas com vista para um jardim murado. Lá fora, estava uma mulher sentada sozinha, à sombra de um pinheiro-manso, imóvel como uma lápide.
— Como é que ela anda? — perguntou Gabriel.
— Tem saudades suas. Há muito tempo que já não a vem ver.
— É difícil.
— Compreendo.
Deixaram-se ficar à janela durante um momento, sem falarem nem se mexerem.
— Há uma coisa que devia saber — disse o médico por fim. — Ela nunca deixou de o amar, mesmo depois do divórcio.
— E isso é para me fazer sentir melhor?
— Não — respondeu o médico. — Mas você merece saber a verdade.
— E ela também.
Outro silêncio.
— Gémeos, hã?
— Gémeos.
— Meninos ou meninas?
— Um de cada.
— Talvez pudesse deixá-la passar um bocadinho de tempo com eles.
— Uma coisa de cada vez, doutor.
— Sim — respondeu o médico no momento em que Gabriel entrou sozinho no jardim. — Uma coisa de cada vez.
Ela estava sentada na cadeira de rodas, com os resquícios retorcidos das mãos pousados no colo. O cabelo, em tempos comprido e escuro como o de Chiara, estava agora cortado curto, segundo as regras do hospital, e pintalgado de brancas. Gabriel beijou-lhe a cicatriz robusta e fria que tinha na cara e depois sentou-se no banco que se encontrava ao lado. Ela estava a fitar cegamente o jardim, sem dar pela presença dele. Estava a envelhecer, pensou Gabriel. Estavam todos a envelhecer.
— Olha para a neve, Gabriel — disse ela de repente. — Não é linda?
Ele olhou para o sol que brilhava ardentemente no céu limpo.
— Sim, Leah — disse distraidamente —, é linda.
— A neve absolve Viena dos seus pecados — disse ela passado um momento. — A neve cai em Viena enquanto os mísseis chovem sobre Telavive.
Foram algumas das últimas palavras que Leah lhe tinha dito na noite do atentado em Viena. Sofria de uma combinação particularmente aguda de distúrbio de stresse pós-traumático e depressão psicótica. Por vezes, passava por momentos de lucidez, mas na maior parte do tempo permanecia prisioneira do passado. Viena desenrolava-se incessantemente na cabeça dela, como uma cassete em repetição que não conseguia fazer parar: a última refeição que tinham comido, o último beijo que tinham dado, o fogo que lhes matara o único filho que tinham e queimara a pele do corpo de Leah. A vida dela ficara reduzida a cinco minutos; e há já mais de vinte anos que os andava a reviver, uma e outra vez.
— Pensava que te tinhas esquecido de mim, Gabriel.
Virou a cabeça devagar e surgiu-lhe momentaneamente nos olhos um clarão de reconhecimento. Quando voltou a falar, a voz pareceu-se inacreditavelmente com a voz que ele tinha ouvido pela primeira vez muitos anos antes, a chamá-lo de um estúdio em Bezalel.
— Quando foi a última vez que cá estiveste?
— Vim ver-te no teu dia de anos.
— Não me lembro.
— Fizemos uma festa, Leah. Os outros doentes vieram todos. Foi lindo.
— Sinto-me sozinha aqui, Gabriel.
— Eu sei, Leah.
— Não tenho ninguém. Só te tenho a ti, meu amor.
Sentiu que tinha deixado de conseguir enfiar ar nos pulmões. Leah estendeu a mão e pousou-a na dele.
— Não tens tinta nos dedos — disse.
— Há já uns dias que não trabalho.
— Porquê?
— É uma história comprida.
— Tenho tempo — disse ela. — Não tenho mais nada a não ser tempo.
Desviou o olhar dele e fitou o jardim. A luz estava a desaparecer-lhe dos olhos.
— Não te vás já, Leah. Tenho de te dizer uma coisa.
Voltou para ele.
— Andas a restaurar algum quadro? — perguntou ela.
— Um Veronese — respondeu ele.
— Qual?
Disse-lhe.
— Então estás outra vez a viver em Veneza?
— Por mais alguns meses.
Ela sorriu.
— Lembras-te de quando vivíamos juntos em Veneza, Gabriel? Foi quando estavas a fazer a tua aprendizagem com o Umberto Conti.
— Sim, Leah, lembro-me.
— O nosso apartamento era tão pequeno.
— Isso é porque era só um quarto.
— Foram dias maravilhosos, não foram, Gabriel? Dias de arte e de vinho. Devíamos ter ficado em Veneza, meu amor. As coisas teriam sido diferentes se não tivesses voltado para o Departamento. — Gabriel não respondeu. Não conseguia falar. — A tua mulher é de Veneza, não é?
— É, Leah.
— E é bonita?
— Sim, Leah, é muito bonita.
— Gostava de a conhecer um dia.
— E já conheceste, Leah. Já cá veio comigo muitas vezes.
— Não me lembro dela. Se calhar, até é melhor. — Desviou o olhar dele. — Quero falar com a minha mãe — disse. — Quero ouvir a voz da minha mãe.
— Já lhe vamos telefonar, Leah.
— Vê se o cinto do Dani está bem preso. As ruas estão escorregadias.
— Ele está bem, Leah.
Virou-se e olhou outra vez para ele. A seguir, passado um momento, perguntou:
— Tens filhos?
Não sabia bem se ela estava no passado ou no presente.
— Não percebo — disse.
— Com a Chiara.
— Não — respondeu. — Nenhum filho.
— Talvez um dia.
— Sim — disse ele, mas mais nada.
— Promete-me uma coisa, Gabriel.
— O que quiseres, meu amor.
— Se tiveres outro filho, não podes esquecer o Dani.
— Penso nele todos os dias.
— E eu não penso em mais nada.
Sentiu que tinha os ossos da caixa torácica a estalarem com o peso da pedra que Deus lhe tinha posto sobre o coração.
— E quando te fores embora de Veneza? — perguntou Leah passado um momento. — O que acontece?
— Volto para casa.
— De vez?
— Sim, Leah.
— E o que vais fazer? Aqui em Israel não há quadros.
— Vou ser o chefe do Departamento.
— Julgava que o Ari é que era o chefe.
— Isso já foi há muito tempo.
— E onde vais viver?
— Aqui em Jerusalém, para poder estar perto de ti.
— Naquele apartamentozinho?
— Sempre gostei dele.
— Mas não dá para crianças.
— Nós arranjamos espaço.
— E vais continuar a visitar-me depois de teres filhos, Gabriel?
— Sempre que puder.
Ela inclinou a cara para o céu limpo.
— Olha para a neve, Gabriel.
— Sim — disse ele, a chorar baixinho. — Não é linda?
O médico estava à espera de Gabriel na sala de convívio. Não disse uma única palavra até regressarem ao átrio.
— Quer dizer-me alguma coisa? — perguntou.
— Correu tão bem como se podia esperar.
— Para ela ou para si?
Gabriel não disse nada.
— Não há mal nenhum nisso, sabe? — disse o médico passado um momento.
— No quê?
— Em estar feliz.
— Não sei bem se sei como.
— Experimente — retorquiu o médico. — E se precisar de falar com alguém, já sabe onde me encontrar.
— Tome bem conta dela.
— É o que tenho feito sempre.
Depois disso, Gabriel entregou-se aos cuidados da equipa de segurança e entrou para a parte de trás da limusina. Era estranho, pensou, mas já não tinha vontade de chorar. Imaginou que era isso que queria dizer ser o chefe.
Chiara só tinha chegado a Jerusalém uma hora antes de Gabriel, e no entanto o apartamento deles na Rua Narkiss já parecia uma fotografia de uma daquelas revistas lustrosas de design de interiores que ela andava sempre a ler. Havia flores frescas nas jarras e taças com aperitivos nas mesinhas de apoio, e o copo de vinho fresco que lhe pôs na mão estava à temperatura perfeita. Tinha os lábios, quando ele os beijou, quentes do sol de Jerusalém.
— Esperava-te mais cedo — disse ela.
— Tive de ir tratar de umas coisas.
— E onde estiveste?
— No inferno — respondeu ele muito a sério.
Ela franziu o sobrolho.
— Vais ter de me contar isso mais tarde.
— Mais tarde porquê?
— Porque vamos ter companhia, querido.
— E é preciso perguntar quem é?
— Provavelmente, não.
— E como é que ele soube que tínhamos voltado?
— Disse qualquer coisa sobre um arbusto em chamas.
— E não podemos fazer isso noutra noite?
— Agora já não dá para cancelar. Ele e a Gilah já saíram de Tiberíades.
— Imagino que te esteja a fazer atualizações constantes do sítio onde está.
— Já ligou duas vezes. Está muito entusiasmado por te ver.
— Porque será?
Beijou outra vez Chiara e levou o copo de vinho para o quarto. As paredes estavam repletas de quadros. Havia quadros pintados por Gabriel, quadros pintados pela talentosa mãe dele e vários quadros pintados pelo avô, o célebre expressionista alemão Viktor Frankel, que tinha sido assassinado em Auschwitz, no mortífero inverno de 1942. E também havia um retrato a três quartos, sem assinatura, de um jovem macilento que parecia assombrado pela sombra da morte. Leah pintara-o uns dias depois de Gabriel ter regressado de Israel com o sangue de seis terroristas do Setembro Negro nas mãos. Foi a primeira e última vez que aceitou posar para ela.
Devíamos ter ficado em Veneza, meu amor. As coisas teriam sido diferentes…
Despiu a roupa sob o olhar impiedoso do retrato e deixou-se ficar debaixo do chuveiro até os vestígios do toque de Leah lhe desaparecerem da pele. Vestiu roupa lavada e voltou para a sala de estar, no preciso instante em que Gilah e Ari Shamron entravam no apartamento. Gilah trazia uma travessa com a famosa beringela dela, com especiarias marroquinas; o marido famoso trazia apenas uma bengala de madeira de oliveira. Como de costume, a indumentária consistia numas calças cor de caqui, numa camisa clássica branca e num casaco de cabedal com um rasgão no ombro esquerdo. Era evidente que não se encontrava bem, mas o sorriso era de contentamento. Shamron tinha passado vários anos a tentar convencer Gabriel a voltar para Israel e assumir o lugar que lhe cabia por direito próprio na suíte do diretor, na Avenida Rei Saul. E agora, por fim, a tarefa estava terminada. O sucessor dele estava a postos. A linhagem estava assegurada.
Encostou a bengala à parede do vestíbulo e, com Gabriel logo atrás, foi para a pequena varanda onde duas cadeiras de ferro forjado se encontravam por baixo da cobertura pendente fornecida por um eucalipto. Lá em baixo, a Rua Narkiss revelava-se tranquila e silenciosa, mas, ao longe, ouvia-se o barulho ténue do trânsito do início da noite no Rei Jorge. Periclitante, Shamron sentou-se numa das cadeiras e fez sinal a Gabriel para se sentar na outra. Depois puxou de um maço de cigarros turcos e, com enorme concentração, tirou um. Gabriel olhou para as mãos de Shamron, as mãos que tinham praticamente extraído a vida a Adolf Eichmann, na esquina de uma rua na parte norte de Buenos Aires. Fora uma das razões para terem dado essa missão a Shamron: o tamanho e a força invulgares das mãos dele. Agora, estavam cheias de manchas de fígado e de escoriações que nunca tinham cicatrizado. Gabriel desviou o olhar enquanto elas tentavam acender desajeitadamente o velho isqueiro Zippo.
— Não devias mesmo fazer isso, Ari.
— Que diferença faz agora?
O isqueiro acendeu-se e o acre fumo turco misturou-se com o intenso cheiro a eucalipto. Subitamente, as recordações acumularam-se aos pés de Gabriel como as águas de uma cheia. Tentou mantê-las à distância, mas não conseguiu; Leah destruíra o que restava das defesas dele. Estava a guiar por um mar de erva da Cornualha varrida pelo vento, com Shamron ao lado. Era o dealbar do novo milénio, os tempos dos atentados à bomba suicidas e de ilusões. Tinham acabado de arrancar Shamron da reforma para consertar o Departamento após uma série de operações desastrosas e queria que Gabriel o ajudasse nessa iniciativa. O isco que utilizou foi Tariq al-Hourani, o mestre terrorista palestiniano que tinha posto a bomba debaixo do carro de Gabriel em Veneza.
Se me ajudares a acabar com o Tariq, se calhar vais conseguir esquecer finalmente a Leah e andar para a frente com a tua vida…
Gabriel ouviu Chiara a rir-se na sala de estar e a recordação desvaneceu-se.
— O que se passa agora? — perguntou com delicadeza a Shamron.
— A lista dos meus mal-estares físicos é quase tão comprida como a lista dos desafios que o Estado de Israel enfrenta. Mas não te preocupes — acrescentou apressadamente —, não vou a lado nenhum tão depressa. Faço todas as tenções de continuar por aqui para poder assistir ao nascimento dos meus netos.
Gabriel resistiu ao impulso de relembrar a Shamron que não eram verdadeiramente pai e filho.
— Estamos a contar que lá estejas, Ari.
Shamron sorriu.
— Já decidiram onde vão viver depois de eles nascerem?
— Tem piada — respondeu Gabriel —, a Bella perguntou-me a mesma coisa.
— Ouvi dizer que tiveram uma conversa interessante.
— E como sabes que eu a fui ver?
— O Uzi contou-me.
— Julgava que ele não atendia os teus telefonemas.
— Parece que começou o grande degelo. É uma das poucas vantagens de uma saúde débil — acrescentou. — Todos os rancores mesquinhos e as promessas parecem ir-se esfumando à medida que a pessoa se aproxima do fim.
Os ramos do eucalipto começaram a agitar-se com a primeira brisa da noite. A cada minuto, o ar estava a ficar mais fresco. Gabriel sempre adorara que em Jerusalém ficasse frio à noite, mesmo no verão. Teve vontade de poder parar aquele momento e prolongá-lo por mais um bocadinho. Olhou para Shamron, que estava a bater com o cigarro pensativamente na borda de um cinzeiro.
— Foi preciso bastante coragem para ires falar com a Bella. E perspicácia. Só prova que tive sempre razão numa coisa.
— No quê, Ari?
— Na certeza de que tens tudo o que é preciso para ser um grande chefe.
— Às vezes, interrogo-me se não estarei prestes a cometer o meu primeiro erro.
— Ires arranjar uma maneira de o Uzi continuar?
Gabriel assentiu com a cabeça lentamente.
— É arriscado — concordou Shamron. — Mas se há alguém capaz de fazer isso, és tu.
— Não tens conselhos?
— Já não te dou mais conselhos, meu filho. Sou a pior coisa que um homem pode ser, velho e obsoleto. Sou um espectador. Estou no caminho dos outros.
Shamron olhou para Gabriel e franziu o sobrolho.
— Estás à vontade para me corrigires quando quiseres.
Gabriel sorriu, mas não disse nada.
— O Uzi contou-me que as coisas entre ti e a Bella ficaram um bocadinho acaloradas — disse Shamron.
— Lembrou-me o interrogatório que tive de aguentar naquela noite no Setor Vazio.
— A pior noite da minha vida.
Shamron ponderou um pouco no que tinha dito.
— Pensando melhor — disse —, foi a segunda pior.
Não precisava de dizer qual era a noite que ocupava o lugar de destaque. Estava a falar de Viena.
— Acho que a Bella está mais chateada com isto tudo do que o Uzi — continuou. — Receio bem que já esteja bastante acostumada aos adornos do poder.
— Mas o que te poderá ter dado essa impressão?
— A maneira como ela se está a agarrar a eles. Acha que eu tenho culpa de tudo, claro. Acha que eu planeei isto desde o início.
— E planeaste.
Shamron fez uma expressão que ficava algures entre uma careta e um sorriso.
— Não vais negar nada? — perguntou Gabriel.
— Não — respondeu Shamron. — Já tive a minha quota-parte de triunfos, mas, no fim de tudo, é a tua carreira que vai servir de bitola a todas as outras. É verdade que não escondi as minhas preferências, sobretudo a seguir a Viena. Mas a minha fé em ti foi recompensada com uma série de operações que foi muito além dos talentos de uma pessoa como o Uzi. Com certeza que até a Bella tem noção disso.
Gabriel não respondeu. Estava a olhar para um rapaz de dez ou onze anos a atravessar a rua sossegada de bicicleta.
— E agora — disse Shamron — parece que és capaz de ter descoberto maneira de aceder às finanças do carniceirozinho de Damasco. Com um bocadinho de sorte, ainda vai ficar como o primeiro grande triunfo da era Gabriel Allon.
— Pensava que não acreditavas na sorte.
— E não acredito. — Shamron acendeu outro cigarro; a seguir, rodando de súbito o pulso, fechou a tampa do isqueiro bruscamente. — O carniceirozinho é cruel como o pai, mas não tem a inteligência dele, o que o torna muito perigoso. Nesta altura, o dinheiro já é a única coisa que importa. É o que tem impedido o clã de se desfazer. E é por isso que os lealistas continuam leais ao governo. E que há crianças a morrer aos milhares. Mas se conseguisses realmente adquirir o comando do dinheiro… — Sorriu. — As possibilidades seriam ilimitadas.
— E não tens mesmo nenhum conselho para me dar?
— Deixa o carniceirozinho ficar no poder enquanto ele se mantiver minimamente aceitável. Caso contrário, os próximos anos vão ser muito interessantes para ti e para os teus amigos em Washington e Londres.
— Então é assim que a grande Primavera Árabe termina? — perguntou Gabriel. — Agarramo-nos a um assassino em massa por ele ser o único que pode salvar a Síria da Al-Qaeda?
— Longe de mim querer dizer-te que bem te avisei, mas previ que a Primavera Árabe ia terminar em desastre e foi o que aconteceu. Os árabes ainda não estão preparados para a verdadeira democracia, numa altura em que o islamismo radical está em ascensão. O melhor que podemos esperar é que haja regimes autoritários razoáveis em sítios como a Síria e o Egito.
Shamron fez uma pausa, antes de acrescentar:
— Quem sabe, Gabriel? Se calhar, até és capaz de arranjar maneira de convencer o presidente a educar o povo condignamente e a tratá-lo com a dignidade que merece. Se calhar, até podes conseguir obrigá-lo a deixar de matar crianças com gás.
— E há outra coisa que eu quero dele.
— O Caravaggio?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Primeiro, descobres o dinheiro — afirmou Shamron, calcando o cigarro para o apagar. — E depois descobres o quadro.
Gabriel não disse mais nada. Estava a olhar para o rapaz da bicicleta a entrar e a sair com elegância das longas sombras no fim da rua. Quando a criança desapareceu, inclinou a cara para o céu de Jerusalém. Olha para a neve, pensou. Não é linda?
O repicar dos sinos da igreja acordou Gabriel de um sono sem sonhos. Ficou ali deitado um momento, sem se mexer nem ter a certeza absoluta de onde estava. Foi então que viu o retrato taciturno pintado por Leah a fitá-lo da parede e percebeu que estava no quarto do apartamento na Rua Narkiss. Saiu da cama sem fazer barulho, para não acordar Chiara, e foi para a cozinha pé ante pé. O único sinal do jantar que tinham tido na noite anterior era o cheiro forte e doce das flores a murcharem nas jarras. Em cima do balcão imaculado, encontrava-se uma cafeteira com êmbolo e uma lata de Lavazza. Gabriel pôs a chaleira no fogão e ficou a olhar para ela enquanto esperava que a água fervesse.
Bebeu o café na varanda e leu os jornais matutinos no BlackBerry. A seguir, entrou silenciosamente na casa de banho para fazer a barba e tomar um duche. Quando de lá saiu, Chiara ainda estava a dormir profundamente. Abriu o armário e ficou ali parado um momento, a pensar no que devia vestir. Concluiu que um fato não seria apropriado; poderia fazer com que as tropas achassem que já estava ao comando. Acabou por se decidir pela indumentária habitual: umas calças de ganga azuis desbotadas, um pulôver de algodão e um casaco de cabedal. Shamron tinha tido um uniforme próprio, pensou, e ele também iria ter.
Passavam poucos minutos das oito quando ouviu a coluna automóvel a interromper o silêncio da Rua Narkiss. Beijou Chiara delicadamente e depois foi ter com a limusina que o esperava lá fora. A viagem fê-lo atravessar Jerusalém, em direção a leste, até ao Portão de Dung, a entrada principal para o Bairro Judeu da Cidade Antiga. Passou pelos detetores de metais e, ladeado pelos guarda-costas, percorreu a praça ampla até à Muralha Ocidental, o muito controverso resquício da antiga barreira de retenção que em tempos rodeara o grande Templo de Jerusalém. Por cima da Muralha, brilhando à luz do sol do início da manhã, encontrava-se a dourada Cúpula do Rochedo, o terceiro santuário mais sagrado do islão. O conflito israelo-árabe tinha muitas particularidades, mas Gabriel chegara à conclusão de que tudo se resumia ao seguinte: duas religiões envolvidas numa luta até à morte pela mesma parcela de terra sagrada. Podia haver períodos de tranquilidade, meses ou mesmo anos sem bombas nem sangue; mas Gabriel temia que nunca houvesse paz verdadeira.
A parte da Muralha Ocidental que era visível da praça tinha 57 metros de largura e 19 de altura. Mas a verdadeira muralha de retenção ocidental do planalto do Monte do Templo era muito maior, indo 13 metros abaixo da praça e prolongando-se por mais de 400 metros até ao Bairro Muçulmano, onde se encontrava escondida atrás de estruturas residenciais. Depois de anos de escavações arqueológicas política e religiosamente tensas, era agora possível percorrer a pé quase toda a muralha pelo Túnel da Muralha Ocidental, uma passagem subterrânea que ligava a praça à Via Dolorosa.
A entrada para o túnel ficava do lado esquerdo da praça, não muito longe do Arco de Wilson. Gabriel entrou discretamente pela moderna porta de vidro e, com os guarda-costas logo atrás, desceu uma escada de alumínio estreita. Uma passagem recém-pavimentada prolongava-se pela base da muralha. Passando pelos gigantescos silhares herodianos, seguiu-a até chegar a uma parte do complexo do túnel escondida por uma cortina de plástico opaco. Do outro lado da cortina, encontrava-se uma vala de escavação onde uma única figura, um homem já perto da terceira idade, esgravatava a terra sob um cone de uma luz branca fraca. Pareceu não dar pela presença de Gabriel, o que não era o caso. Seria mais fácil surpreender um esquilo do que Eli Lavon.
Passou mais um momento até Lavon olhar para cima e sorrir. Tinha cabelo ralo impossível de pentear e uma cara insípida, quase anónima, que mesmo o mais talentoso dos retratistas teria dificuldade em captar num quadro. Eli Lavon era mais um fantasma do que um homem, um camaleão que facilmente passava despercebido e depressa era esquecido. Shamron dissera uma vez que ele era capaz de desaparecer enquanto apertava a mão a alguém. Não estava muito longe da verdade.
Gabriel tinha trabalhado com Lavon pela primeira vez durante a Ira de Deus, a operação clandestina dos serviços secretos israelitas destinada a caçar e matar os autores do massacre das Olimpíadas de Munique. No léxico do Departamento, fundado no hebraico, Lavon tinha sido um ayin, um especialista a seguir pessoas e artista de vigilância. Ao longo de três anos, perseguira os terroristas do Setembro Negro pela Europa e pelo Médio Oriente, muitas vezes perigosamente perto. Essa atividade tinha-o deixado com inúmeras perturbações de ansiedade, incluindo um estômago reconhecidamente instável que o continuava a apoquentar.
Quando a unidade se separou, em 1975, Lavon instalou-se em Viena, onde abriu um pequeno escritório de investigação chamado Reclamações e Investigações Relativas ao Tempo de Guerra. Atuando com orçamentos exíguos, conseguiu localizar milhões de dólares correspondentes a bens saqueados durante o Holocausto e desempenhou um papel importante na obtenção de uma indemnização de muitos milhares de milhões de dólares por parte dos bancos suíços. Foi uma atividade que lhe granjeou poucos admiradores em Viena e, em 2003, uma bomba explodiu-lhe no escritório, matando duas jovens funcionárias. Destroçado, regressou a Israel para se dedicar ao primeiro amor, a arqueologia. Atualmente, era professor adjunto de arqueologia bíblica na Universidade Hebraica de Jerusalém e participava regularmente em escavações pelo país. Tinha passado grande parte dos últimos dois anos a examinar com toda a atenção o solo do Túnel da Muralha Ocidental.
— Quem são os teus amiguinhos? — perguntou, olhando de soslaio para os guarda-costas que se encontravam na borda da vala de escavação.
— Dei com eles a deambular pela praça, perdidos.
— Não estão a estragar nada, pois não?
— Nunca se atreveriam.
Lavon baixou os olhos e retomou o trabalho.
— O que tens aí? — perguntou Gabriel.
— Uns trocos.
— E quem os deixou aí?
— Uma pessoa que estava chateada com o facto de os Persas estarem prestes a conquistar Jerusalém. É óbvio que estava com pressa.
Lavon esticou o braço e ajustou o ângulo da lâmpada de trabalho. O fundo da trincheira reluziu com o brilho dos pedaços de ouro lá encrustados.
— O que é isso? — perguntou Gabriel.
— Trinta e seis moedas de ouro da época bizantina e um medalhão grande com uma menorá. São a prova de que havia judeus a viver neste sítio antes de os muçulmanos conquistarem Jerusalém, em 638. Para a maioria dos arqueólogos bíblicos, isto seria a descoberta de uma vida. Mas para mim, não.
Lavon olhou para Gabriel e acrescentou:
— Nem para ti.
Gabriel olhou por cima do ombro, para os silhares da Muralha. Um ano antes, numa câmara secreta a 51 metros abaixo da superfície do Monte do Templo, ele e Lavon tinham descoberto vinte e dois pilares do Templo de Jerusalém de Salomão, provando assim, sem sombra de dúvida, que o antigo santuário judaico, descrito no Livro dos Reis e no Livro das Crónicas, existira de facto. E também descobrira uma bomba gigantesca que, a ter sido detonada, teria destruído todo o planalto sagrado. Atualmente, os pilares faziam parte de uma exposição com grandes medidas de segurança, no Museu de Israel. Um precisara de uma limpeza especial antes de poder ser apresentado, pois estava manchado com o sangue de Lavon.
— O Uzi telefonou-me ontem à noite — disse Lavon passado um momento. — Disse-me que eras capaz de aparecer.
— E explicou-te porquê?
— Disse qualquer coisa sobre um Caravaggio desaparecido e uma empresa chamada LXR Investments. Disse que estavas interessado em adquiri-la, tal como ao resto da Evil Incorporated.
— E achas que pode ser feito?
— Há limites para o que é possível fazer do exterior. Mais tarde ou mais cedo, vais precisar da ajuda de alguém que te possa arranjar as chaves do reino.
— Então vamos encontrar essa pessoa.
— Vamos?
Quando Gabriel não respondeu, Lavon debruçou-se e começou a esgravatar a terra em redor de uma das moedas antigas.
— O que precisas que eu faça?
— O que estás a fazer neste preciso momento, sem tirar nem pôr — respondeu Gabriel. — Mas quero que te sirvas de um computador e de um balancete em vez de uma colher de trolha e de um pincel.
— Nos tempos que correm, prefiro uma colher de trolha e um pincel.
— Eu sei, Eli, mas não consigo fazer isto sem ti.
— Não vai haver nada de violências, pois não?
— Não, Eli, é claro que não.
— Dizes sempre isso, Gabriel.
— E?
— Há sempre violência.
Gabriel baixou-se e desligou a lâmpada da fonte de energia. Lavon continuou a trabalhar, às escuras, por mais um momento. A seguir, levantou-se, limpou as mãos às calças e trepou para fora da vala.
Solteiro inveterado, Lavon tinha um pequeno apartamento no bairro de Talpiot, em Jerusalém, logo à saída da Estrada de Hebron. Pararam lá apenas para ele poder mudar de roupa e depois seguiram pelo Bab al-Wad até à Avenida Rei Saul. Após entrarem no edifício pela garagem subterrânea, desceram três lanços de escadas e percorreram um corredor vazio até chegarem a uma porta com o número 456C. A sala que se encontrava do lado de lá tinha sido em tempos um local de despejo para computadores obsoletos e mobília gasta, utilizado muitas vezes pelo pessoal da noite para escapadelas românticas. Agora, era conhecida pela Avenida Rei Saul inteira simplesmente como o Covil de Gabriel.
O código secreto do teclado automático era a versão numérica da data de nascimento de Gabriel, supostamente o segredo mais bem protegido do Departamento. Com Lavon a espreitar-lhe por cima do ombro, Gabriel marcou o código no teclado e abriu a porta. Lá dentro, estava Dina Sarid, uma mulher pequena e de cabelo escuro com um ar de viúva precoce. Uma base de dados humana, era capaz de recitar a hora, o lugar, os autores e o número de mortos de todos os atos de terrorismo cometidos contra alvos israelitas e ocidentais. Dina tinha dito uma vez a Gabriel que sabia mais sobre os terroristas do que estes sobre si próprios. E Gabriel acreditara.
— Onde estão os outros? — perguntou.
— Enfiados na divisão de Pessoal.
— O que está a atrasar as coisas?
— Pelos vistos, os chefes das divisões estão em processo de revolta.
Dina fez uma pausa e depois acrescentou:
— É o que acontece a um serviço secreto quando se fica a saber que o chefe já não vai durar muito.
— Se calhar, eu devia ir lá acima dar uma palavrinha aos chefes das divisões.
— Aguenta uns minutos.
— As coisas têm andado muito más?
— Preparei uma lista de agentes da Al-Qaeda que se instalaram aqui ao lado, na Síria, jihadistas mundiais da pior espécie, que precisam de ser postos fora de circulação permanentemente. E adivinha lá o que acontece sempre que eu proponho uma operação?
— Nada.
Dina assentiu com a cabeça lentamente.
— Estamos completamente paralisados — explicou. — Andamos a marcar passo na altura em que nos podemos dar menos ao luxo disso.
— Mas isso vai acabar, Dina.
Foi então que a porta se abriu e Rimona Stern entrou na sala. Mikhail Abramov apareceu depois a passos largos, seguido passados uns minutos por Yaakov Rossman, que parecia já não dormir há um mês. Pouco tempo depois, surgiram dois versáteis agentes de campo chamados Mordecai e Oded e, por último, Yossi Gavish, uma figura alta e já meio calva, com roupa de bombazina e tweed. Yossi era um dos principais agentes dentro da Investigação, o nome que o Departamento dava à sua divisão analítica. Nascido em Londres, na zona de Golders Green, tinha estudado em Oxford e ainda falava hebraico com um sotaque inglês pronunciado.
Nos corredores e salas de conferência da Avenida Rei Saul, os oito homens e mulheres que se encontravam na sala subterrânea eram conhecidos pelo nome de código Barak, a palavra hebraica para relâmpago, devido à capacidade de se reunirem e atacarem rapidamente. Eram um serviço dentro de outro serviço, uma equipa de agentes sem igual nem medo. Ao longo da sua existência, fora por vezes necessário dar entrada a gente de fora — uma jornalista de investigação britânica, um bilionário russo, a filha de um homem que tinham matado —, mas nunca haviam permitido que outro agente do Departamento se juntasse a essa irmandade. Por isso mesmo, mostraram-se todos surpreendidos quando, às dez em ponto, Bella Navot surgiu à entrada da sala. Vinha vestida para uma reunião, com um fato de calças e casaco cinzento, e trazia uma série de dossiês encostados ao peito. Ficou ali parada à porta um momento, como se estivesse à espera que a convidassem para entrar, e depois, sem dizer uma única palavra, sentou-se ao lado de Yossi, numa das mesas de trabalho.
Se a equipa se sentiu incomodada com a presença de Bella, não o demonstrou. Gabriel levantou-se e dirigiu-se para o último quadro preto em toda a Avenida Rei Saul. Estavam lá escritas quatro palavras: o sangue nunca dorme. Apagou-as de uma só vez e, no lugar delas, escreveu três letras: lxr. A seguir, relatou à equipa a extraordinária sequência de acontecimentos que tinha acelerado a reunião deles, começando pelo assassínio de um espião britânico tornado contrabandista de arte chamado Jack Bradshaw e terminando com a carta que o mesmo deixara a Gabriel no cofre-forte do Freeport de Genebra. Ao morrer, Bradshaw tinha tentado expiar os pecados revelando a Gabriel a identidade do homem que andava a comprar quadros roubados às carradas: o presidente assassino da Síria. E também fornecera a Gabriel o nome da empresa-fachada que esse presidente utilizara nas compras: a LXR Investments of Luxembourg. Sem dúvida que a LXR era apenas uma pequena estrela numa galáxia de riqueza à escala mundial, sendo que grande parte se encontrava escondida por baixo de camadas de empresas-fachada e testas de ferro. Mas uma rede de riqueza, tal como uma rede de terroristas, tinha de ter um cabecilha talentoso no que respeitava a operações para poder funcionar. O presidente confiara o dinheiro da família a Kemel al-Farouk, o guarda-costas do pai, o capanga que torturara e matara a mando do regime. Mas Kemel não era capaz de gerir o dinheiro sozinho, com a NSA e respetivos parceiros a monitorizarem cada passo que dava. Havia algures um homem de confiança — um advogado, um banqueiro, um familiar — com capacidade para movimentar esses ativos a bel-prazer. Iam servir-se da LXR para o descobrir. E Bella Lavon ia conduzi-los passo a passo.
Começaram a busca investigando não o filho mas o pai: o homem que tinha governado a Síria desde 1970 até morrer de ataque cardíaco em 2000. Nascera nas montanhas de Djebel Ansari, no Noroeste da Síria, em outubro de 1930, na aldeia de Qurdaha. Tal como as outras aldeias da região, Qurdaha pertencia aos alauitas, seguidores de um minúsculo e perseguido ramo xia do islão e que a maioria dos sunitas considerava serem hereges. Qurdaha não tinha mesquita nem igreja, nem sequer um único café ou loja, mas a chuva caía dos céus trinta dias por ano e havia uma fonte de água mineral, numa gruta lá perto, a que os habitantes da aldeia chamavam ‘Ayn Zarqa. O nono de onze filhos, vivia numa casa de pedra de duas assoalhadas, com um patiozinho na parte da frente, com terra batida, e, logo ao lado, uma pequena extensão de lama para os animais. O avô, uma celebridade menor na aldeia, com jeito para utilizar os punhos e pistolas, era conhecido como Al-Wahhish, o Selvagem, por em tempos ter espancado um lutador ambulante turco. O pai era capaz de enfiar uma bala numa mortalha de cigarro a cem passos de distância.
Em 1944, saiu de Qurdaha para ir para a escola na cidadezinha costeira de Latakia. Foi lá que se começou a envolver na política, filiando-se no novo Partido Árabe Socialista Baath, um movimento secular que procurava terminar com a influência ocidental no Médio Oriente por via de um socialismo pan-árabe. Em 1951, entrou para uma academia militar em Alepo, um percurso tradicional para um alauita a tentar escapar-se das amarras da pobreza das montanhas, e, em 1964, já comandava a força aérea síria. Após um golpe de Estado baathista, em 1966, tornou-se ministro da Defesa sírio, cargo que exerceu durante a desastrosa guerra da Síria com Israel, em 1967, altura em que perdeu o domínio dos montes Golã. Apesar do fracasso catastrófico das forças que chefiava, tornar-se-ia presidente da Síria no espaço de apenas três anos. Num sinal do que o futuro traria, referiu-se como «movimento corretivo» ao golpe de Estado sem derramamento de sangue que o levou ao poder.
Foi uma ascensão que pôs fim a um longo ciclo de instabilidade política na Síria, mas com um elevado preço a pagar pelo povo sírio e pelo resto do Médio Oriente. Cliente da União Soviética, o regime era um dos mais perigosos da região. O presidente apoiou elementos radicais do movimento palestiniano — Abu Nidal agiu com impunidade desde Damasco durante anos — e equipou o exército com todas as novidades em matéria de defesas aéreas, tanques e soldados soviéticos. A própria Síria tornou-se uma prisão gigantesca, onde os faxes foram proibidos e uma palavra mal medida acerca do presidente resultava numa viagem até Mezzeh, a infame prisão no cimo de uma colina, na zona oeste de Damasco. Quinze serviços de segurança espiavam o povo sírio ao mesmo tempo que se espiavam uns aos outros. Estavam todos nas mãos dos alauitas, tal como o exército sírio. Um complexo culto da personalidade cresceu à volta do presidente e da família. A cara dele, com uma testa curva e tez adoentada, avultava sobre todas as praças e surgia nas paredes de todos os edifícios públicos do país. A mãe, uma camponesa, era adorada quase como se fosse uma santa.
No entanto, no espaço de uma década após a subida ao poder, grande parte da maioria sunita do país já não via com bons olhos ser governada por um camponês alauita de Qurdaha. As bombas explodiam regularmente em Damasco e, em junho de 1979, um membro da Irmandade Muçulmana matou pelo menos cinquenta cadetes alauitas no refeitório da academia militar de Alepo. Um ano mais tarde, militantes islâmicos lançaram um par de granadas ao presidente durante uma cerimónia diplomática em Damasco — altura em que o estouvado irmão do presidente declarou guerra aberta à Irmandade e aos respetivos apoiantes muçulmanos sunitas. Um dos seus primeiros atos foi enviar unidades das Companhias de Defesa, os guardiões do regime, para a prisão de Palmira, no deserto. De acordo com as estimativas, oitocentos prisioneiros políticos foram chacinados nas celas.
Mas foi na cidade de Hama, um foco de atividade da Irmandade Muçulmana nas margens do rio Orontes, que o regime demonstrou até onde seria capaz de ir para garantir a sobrevivência. Com o país à beira de uma guerra civil, as Companhias de Defesa entraram na cidade ao início da manhã de 2 de fevereiro de 1982, com várias centenas de agentes da temível polícia secreta Mukhabarat. O que se seguiu foi o pior massacre dos tempos modernos no Médio Oriente, um frenesim de mortes, tortura e destruição que durou um mês e deixou no mínimo vinte mil pessoas mortas e uma cidade reduzida a escombros. O presidente nunca negou o massacre nem procurou fugir ao número de mortos. Aliás, deixou que a cidade ficasse durante meses em ruínas para que não se esquecessem do que aconteceria a quem se atrevesse a desafiá-lo. No Médio Oriente, passou a estar na moda uma nova expressão: as Regras de Hama.
O presidente nunca mais voltou a enfrentar uma ameaça séria. Com efeito, num plebiscito presidencial de 1991, conquistou 99,9 por cento dos votos, o que levou um comentador sírio a assinalar que nem Alá se teria saído tão bem. Contratou um arquiteto famoso para lhe construir um sumptuoso palácio presidencial e, conforme a saúde se foi deteriorando, começou a pensar num sucessor. O estouvado irmão mais novo tentou usurpar o poder quando o presidente ficou incapacitado pela doença e o resultado foi o exílio. O adorado filho mais velho, soldado e campeão de hipismo, morreu violentamente num desastre de automóvel. Sobrava apenas o filho do meio, um afável oftalmologista educado em Londres para assumir o comando do negócio da família.
Os primeiros anos de governação foram repletos de esperança e expectativas. Concedeu aos concidadãos acesso à Internet e permitiu-lhes viajar para fora do país sem precisarem de assegurar primeiro autorização por parte do governo. Jantava em restaurantes com a mulher, uma pessoa que gostava de se vestir bem, e libertou várias centenas de prisioneiros políticos. Hotéis de luxo e centros comerciais alteraram a linha dos telhados das enfadonhas Damasco e Alepo. Os cigarros ocidentais, outrora proibidos pelo pai, começaram a aparecer nas prateleiras das lojas sírias.
Depois, surgiu a grande Primavera Árabe. Os sírios deixaram-se ficar a observar enquanto a velha ordem se desmoronava à volta deles, como se tivessem uma premonição do que estava a caminho. Foi então que, em março de 2011, quinze jovens se atreveram a pintar grafítis antirregime na parede de uma escola em Daraa, uma pequena povoação agrícola a noventa e seis quilómetros para sul de Damasco. A Mukhabarat foi lesta a prender os rapazes e aconselhou os pais que fossem para casa fazer mais filhos, já que nunca mais iam voltar a ver aqueles. Daraa explodiu em manifestações de protesto, que se espalharam rapidamente a Homs, Hama e, por fim, a Damasco. No espaço de um ano, a Síria estaria mergulhada numa guerra civil a toda a escala. E o filho, tal como o pai antes dele, seguiria as Regras de Hama.
Mas onde estava o dinheiro? O dinheiro que durante duas gerações tinha sido saqueado do tesouro público sírio. O dinheiro que tinha sido retirado de empreendimentos estatais sírios e canalizado para os bolsos do presidente e dos parentes alauitas de Qurdaha. Uma parte encontrava-se escondida dentro de uma empresa chamada LXR Investments of Luxembourg e foi lá que Gabriel e a equipa iniciaram as investigações. Que, inicialmente, foram bem-educadas e, por isso mesmo, completamente insatisfatórias. Uma pesquisa simples na Internet revelou que a LXR não tinha site na Internet e que não aparecera em nenhuma notícia nem comunicado de relações públicas, tanto comercial ou outro. Havia uma pequena referência no registo comercial luxemburguês, mas em que não apareciam nomes de investidores nem diretores da LXR — apenas uma morada, que se revelou ser das instalações de um advogado de direito das empresas. Para Eli Lavon, o investigador financeiro mais experiente da equipa, era evidente que a LXR era um caso clássico de um instrumento utilizado por alguém que queria investir dinheiro anonimamente. Era uma não-entidade, uma empresa fantasma, uma fachada dentro de uma fachada.
Ampliaram a pesquisa de modo que incluísse os registos comerciais da Europa Ocidental. E quando isso mal trouxe resultados, vasculharam os registos fiscais e imobiliários de todos os países onde tais documentos se encontrassem disponíveis. Nenhuma dessas pesquisas produziu correspondências, com exceção do Reino Unido, onde ficaram a saber que a LXR Investments era a arrendatária oficial de um prédio comercial na King’s Road, no bairro de Chelsea, que estava ocupado por uma conhecida empresa de roupa feminina. O advogado que representava a LXR no Reino Unido trabalhava para uma pequena sociedade localizada em Southwark, em Londres. Chamava-se Hamid Khaddam. Tinha nascido em novembro de 1964, na aldeia de Qurdaha, na Síria.
Habitava numa vivenda, no bairro londrino de Tower Hamlets, com a mulher, Aisha, nascida em Bagdade, e três filhas adolescentes, que já estavam demasiado ocidentalizadas para o gosto dele. Apanhava o metro para o emprego todas as manhãs, embora por vezes, quando chovia ou estava atrasado, se desse ao pequeno luxo de ir de táxi. Os escritórios da sociedade de avogados ficavam num pequeno edifício em tijolo, na Great Suffolk Street, bastante longe das moradias elegantes de Knightsbridge e Mayfair. Ao todo, eram oito advogados — quatro sírios, dois iraquianos, um egípcio e um jovem e espalhafatoso jordano que afirmava ainda ser da família dos governantes hachemitas do seu país. Hamid Khaddam era o único alauita. Tinha uma televisão no escritório, que estava sempre a transmitir a Al Jazeera. No entanto, recebia a maior parte das notícias lendo blogues do Médio Oriente em árabe. Todos com uma inclinação editorial pró-regime.
Mostrava-se cuidadoso na vida pessoal e profissional, mas não cuidadoso ao ponto de perceber que estava a ser alvo de um ataque dos serviços secretos que era tão abrangente como discreto. Teve início na manhã depois de a equipa ter descoberto o nome dele, quando Mordecai e Oded caíram de paraquedas em Londres, com passaportes canadianos nos bolsos e malas cheias dos instrumentos, bem disfarçados, do ofício. Durante dois dias, vigiaram-no à distância. E depois, na manhã do terceiro, Mordecai, com os seus dedos ágeis, conseguiu apoderar-se por breves instantes do telemóvel de Khaddam enquanto este ia de metro na Central Line, de Mile End para Liverpool Street. O software que Mordecai introduziu no sistema operativo do aparelho deu à equipa acesso em tempo real ao correio eletrónico, às mensagens de texto, aos contactos, às fotografias e às comunicações de voz de Khaddam. E também transformou o aparelho num transmissor a tempo inteiro, o que queria dizer que onde quer que Hamid Khaddam fosse, a equipa iria com ele. E, mais ainda, fora-lhes concedida entrada para a rede informática da sociedade e para o computador de secretária que Hamid Khaddam tinha em casa. Nas palavras de Eli Lavon, era a dádiva que não parava de dar.
Os dados iam fluindo do telemóvel de Khaddam para um computador da base de Londres e da base de Londres seguiam de forma segura para o Covil de Gabriel, nas profundezas da Avenida Rei Saul. Era aí que a equipa os analisava minuciosamente, número de telemóvel atrás de número de telemóvel, endereço de correio eletrónico atrás de endereço de correio eletrónico, nome atrás de nome. A LXR Investments apareceu num e-mail para um advogado sírio, em Paris, e num segundo e-mail, enviado a um contabilista de Bruxelas. A equipa seguiu as duas linhas de investigação, mas o fio desfez-se muito antes de chegar a Damasco. Efetivamente, não encontraram nada no conjunto desse material que desse a entender que Khaddam estivesse em contacto com quaisquer elementos do regime sírio ou da alargada família do presidente. Lavon declarou que ele era um elemento de pouca monta que tratava de recados financeiros a mando de uma autoridade mais importante. Aliás, disse que era possível que o insignificante advogado sírio estabelecido em Londres nem sequer soubesse para quem estava a trabalhar.
E, por isso mesmo, continuaram a escavar e a analisar tudo cuidadosamente enquanto iam discutindo e, à volta deles, o resto da Avenida Rei Saul os observava e aguardava com impaciência. As regras da compartimentação significavam que apenas um punhado de agentes mais destacados se encontravam a par da natureza do trabalho deles, mas o fluxo de dossiês que ia passando da Investigação para a Sala 456C iluminava claramente o percurso que estavam a seguir. Não demorou muito para que se espalhasse a notícia do regresso de Gabriel ao edifício. E também não era segredo que Bella Navot, a mulher do rival que Gabriel derrotara, estava a trabalhar fielmente ao lado dele. Floresceram os rumores. Rumores de que Navot se estava a preparar para entregar as rédeas a Gabriel antes do final do mandato. Rumores de que Gabriel e o primeiro-ministro estavam na realidade a tentar apressar a saída de Navot. E até correu o rumor de que Bella se pretendia divorciar do marido assim que ele fosse despojado dos adornos do poder. Tudo isso conheceu um fim na tarde em que Gabriel e os Navot foram vistos a almoçar prazenteiramente na sala de jantar do diretor. Navot estava a comer peixe escalfado com legumes cozidos a vapor, sinal de que tinha aderido uma vez mais às draconianas restrições alimentares impostas por Bella. De acordo com os rumores, seguramente que não se submeteria à vontade de uma mulher que pretendesse deixá-lo.
Mas não havia maneira de negar que o Departamento ganhara nova vida nos dias que se seguiram ao regresso de Gabriel. Era como se o edifício inteiro estivesse a limpar as teias de aranha depois de um longo período de inatividade em matéria de operações. Havia a sensação de um ataque iminente, ainda que as tropas não fizessem ideia de onde iria acontecer esse ataque nem que forma assumiria. Até Bella parecia afetada pela mudança que tinha atingido o serviço dirigido pelo marido. Mudou de aspeto radicalmente. Trocou os fatos à Fortune 500 por calças de ganga e uma camisola e começou a apanhar o cabelo num desleixado rabo de cavalo digno de uma universitária. Era assim que Gabriel se lembraria sempre dela, a jovem e entusiasta analista de sandálias e camisa amarrotada, a labutar à secretária muito depois de todas as outras pessoas terem dado o dia por terminado e ido para casa. Não era à toa que Bella era considerada a maior especialista do país em questões relacionadas com a Síria; trabalhava mais do que qualquer outra pessoa e não precisava de coisas como comer ou dormir. E também possuía uma vontade implacável de ser bem-sucedida, fosse no campo académico ou no interior da Avenida Rei Saul. Gabriel sempre se tinha interrogado se, com os anos, um bocadinho dos baathistas não teria passado para ela. Bella era uma matadora nata.
Era uma reputação que a precedia, obviamente, e foi por isso compreensível que, de início, a equipa tivesse mantido uma distância cortês. Mas a pouco e pouco foram deixando cair as defesas e passados uns dias já a tratavam como se ela tivesse estado com eles desde o princípio. Quando a equipa começava uma das suas lendárias discussões, Bella ficava invariavelmente do lado que saía vencedor. E quando se reuniam à noite para o tradicional jantar de família, Bella deixava o marido fazer o que queria e juntava-se a eles. Tinham por hábito não falar do caso às refeições, por isso discutiam o lugar de Israel num mundo árabe em mudança. Tal como as grandes potências ocidentais, Israel sempre preferira os tiranos árabes às gentes das ruas árabes. Nunca estabelecera a paz com um democrata árabe, só com ditadores e potentados. Durante várias décadas, os tiranos tinham providenciado um pouco de estabilidade no plano regional, mas com um preço terrível para as pessoas que viviam sob o jugo deles. Os números não mentiam e Bella, estudiosa do regime mais cruel da região, era capaz de os recitar de cor. Apesar da gigantesca riqueza em petróleo, um quinto do mundo árabe sobrevivia com menos de dois dólares por dia. Sessenta e cinco milhões de árabes, a maioria mulheres, não sabiam ler nem escrever e havia milhões sem qualquer tipo de instrução. Outrora pioneiros nos campos da matemática e da geometria, os Árabes tinham-se atrasado calamitosamente em relação ao mundo desenvolvido no que dizia respeito à investigação científica e tecnológica. Ao longo do milénio precedente, os árabes tinham traduzido menos livros do que a Espanha num único ano. Em muitas partes do mundo árabe, o Alcorão era o único livro que interessava.
Mas como, perguntou Bella, se tinha chegado a isso? Seguramente que o islamismo radical desempenhara o seu papel, mas o dinheiro também. Dinheiro que os ditadores e os potentados gastaram consigo próprios e não com o povo. Dinheiro que saía do mundo árabe para os bancos privados de Genebra, de Zurique e do Liechtenstein. Dinheiro que Gabriel e a equipa andavam desesperadamente a tentar encontrar. À medida que os dias se arrastavam, foram batendo em muros de tijolo, becos sem saída, buracos secos e portas que não conseguiam abrir. E foram lendo os e-mails de um insignificante advogado londrino chamado Hamid Kaddham e ouvindo com atenção enquanto ele fazia o dia a dia normal: viagens de metro, reuniões com clientes sobre assuntos importantes e não tanto, desavenças triviais com os sócios pan-árabes. E ouviram-no também a regressar todas as noites à vivenda de Tower Hamlets onde vivia na companhia de quatro mulheres. Numa dessas noites, teve uma discussão escaldante com a filha mais velha sobre o comprimento da saia que ela queria levar para uma festa onde estariam rapazes. Tal como a rapariga, a equipa mostrou-se agradecida quando o telemóvel o interrompeu. A conversa durou dois minutos e dezoito segundos. Quando terminou, Gabriel e a equipa perceberam que tinham encontrado por fim o homem que procuravam.
A cento e sessenta quilómetros para oeste de Viena, o Danúbio vira abruptamente de noroeste para sudeste. Os antigos romanos instalaram aí uma guarnição; e quando os Romanos se foram, o povo que um dia viria a ser conhecido como austríaco construiu uma cidade a que chamou Linz. A cidade prosperou com o minério de ferro e com o sal que eram transportados ao longo do rio e, durante algum tempo, foi a mais importante do Império Austro-Húngaro — mais importante até do que Viena. Mozart compôs a Sinfonia n.º 36 quando vivia em Linz; Anton Bruckner foi organista na Velha Catedral. E no pequeno subúrbio de Leonding, no número 16 da Michaelsbergstrasse, encontra-se uma casa amarela onde Adolf Hitler viveu quando era criança. Hitler mudou-se para Viena em 1905, na esperança de entrar para a Academia de Belas-Artes, mas a adorada Linz nunca estaria longe dos seus pensamentos. Linz deveria ser o centro cultural do Reich de Mil Anos e era aí que Hitler planeava construir o monumental Führermuseum de arte saqueada. Com efeito, o próprio nome de código da operação de pilhagem era Sonderauftrag Linz, ou Operação Especial Linz. A Linz dos tempos modernos tinha-se esforçado bastante por esconder as ligações a Hitler, mas as recordações do passado estavam por todo o lado. A empresa mais preeminente da cidade, o gigante do aço chamado Voestalpine AG, tinha começado por ser conhecida como Hermann-Göring-Werke. E a vinte quilómetros para leste do centro da cidade, encontravam-se os destroços de Mauthausen, o campo de concentração nazi onde os prisioneiros eram submetidos ao «extermínio pelo trabalho». Um dos prisioneiros que conseguiu sobreviver até à libertação do campo foi Simon Wiesenthal, que se tornaria mais tarde o caçador de nazis mais famoso do mundo.
O homem que chegou a Linz na primeira terça-feira de junho sabia muito sobre o passado negro da cidade. Aliás, durante um período de uma vida multifacetada, tinha sido a sua principal obsessão. Quando saiu com leveza do comboio, na Hauptbahnhof, usava um fato escuro que deixava entender que tinha bastante dinheiro e um relógio de ouro que dava a impressão de não ter sido adquirido de forma completamente honesta, o que por acaso até era verdade. Viajara para Linz desde Viena e antes disso tinha passado por Munique, Budapeste e Praga. Por duas vezes ao longo desse trajeto, mudara de identidade. Naquele momento, era Feliks Adler, cidadão da Europa Central de nacionalidade incerta, amante de muitas mulheres e combatente de guerras esquecidas, um homem que se sentia mais confortável em Gstaad e Saint-Tropez do que na terra natal, onde quer que isso fosse. No entanto, o seu nome verdadeiro era Eli Lavon.
Saiu da estação e percorreu uma rua com prédios de apartamentos de cor creme de ambos os lados, até chegar à Catedral Nova, a maior igreja da Áustria. Tinha sido ordenado por decreto que o seu pináculo, que se erguia para o céu, fosse três metros mais pequeno do que o da sua equivalente, a grandiosa Stephansdom. Lavon entrou lá dentro para ver se alguém que estava na rua o seguiria. E ao passar sob a imponente nave, perguntou a si mesmo, sem ser pela primeira vez, como uma terra tão devotamente católica romana podia ter desempenhado um papel tão desmesurado no assassínio de seis milhões de pessoas. Estava-lhes nos ossos, pensou. Bebiam-no com o leite da mãe.
Mas isso eram as opiniões de Lavon, não de Feliks Adler, e quando voltou para a praça, já só sonhava com dinheiro. Dirigiu-se para a Hauptplatz, a praça mais famosa de Linz, e executou um último teste para verificar se estava a ser vigiado. A seguir, atravessou para o outro lado do Danúbio, em direção à rotunda dos elétricos, onde dois modelos modernos estavam a assar ao calor do sol, com aspeto de terem sido largados por engano na cidade errada, no século errado. Num dos lados da rotunda, ficava uma rua chamada Gerstnerstrasse, e perto do fim dessa rua havia uma porta majestosa, com uma placa de bronze que indicava bank weber ag: só por marcação.
Lavon esticou-se para tocar à campainha, mas houve qualquer coisa que o fez hesitar. Era o velho medo, o medo de que já tivesse batido a demasiadas portas e percorrido demasiadas ruas escuras a seguir homens que o teriam matado se soubessem que ele ali estava. Depois lembrou-se de um antigo campo de concentração a vinte quilómetros para leste e de uma cidade na Síria que praticamente desaparecera do mapa. E interrogou-se se haveria algures uma ligação, um arco de maldade, entre ambos. Foi acometido por uma súbita raiva, que atenuou endireitando a gravata e alisando o que lhe restava do cabelo. Foi então que carregou com força na campainha com o polegar e, numa voz que não era a dele, afirmou que se chamava Feliks Adler e que tinha negócios a tratar lá dentro. Passaram-se uns segundos, que pareceram uma eternidade a Lavon. Por fim, os trincos abriram-se e o som de um besouro elétrico assustou-o como se fosse o tiro de partida de uma corrida. Inspirou profundamente, encostou a mão ao puxador e entrou.
Do outro lado da porta, havia um vestíbulo, e depois do vestíbulo ficava uma sala de espera onde se encontrava uma rapariga da Áustria Superior, tão pálida e bonita que quase nem parecia real. Era evidente que a rapariga já estava habituada a receber a atenção indesejada de homens como Herr Adler, pois o cumprimento com que o presenteou foi ao mesmo tempo cordial e indiferente. Ofereceu-lhe uma cadeira da sala de espera, que ele aceitou, e café, que recusou com educação. Ficou sentado com os joelhos a tocarem um no outro e as mãos cruzadas no colo, como se estivesse à espera no cais de uma estação ferroviária da província. Na parede por cima da cabeça dele, uma televisão estava a transmitir, sem som, um canal americano de informação financeira. Em cima da mesa, e junto ao seu cotovelo, encontravam-se exemplares das publicações económicas mais importantes do mundo, ao lado de várias revistas que exaltavam as vantagens da vida nas montanhas da Áustria.
O telefone que estava na secretária da rapariga lá acabou por tocar e ela anunciou que Herr Weber — Herr Markus Weber, presidente e fundador do Bank Weber AG — o iria receber. Estava à espera do outro lado da porta seguinte, uma figura macilenta, alta, careca e de óculos, com um fato escuro à cangalheiro e um sorriso de superioridade. Apertou a mão a Lavon com solenidade, como se o estivesse a consolar pela morte de uma tia afastada, e fê-lo atravessar um corredor repleto de quadros a óleo de lagos em montanhas e prados floridos. No final do corredor, havia uma secretária, com outra mulher, mais velha do que a primeira e com cabelo e um tom de pele mais escuros, sentada a olhar para o ecrã de um computador. O gabinete de Herr Weber ficava à direita; à esquerda, ficava o gabinete do sócio, Waleed al-Siddiqi. A porta do gabinete do senhor Al-Siddiqi estava completamente fechada. Plantados à frente dela, estavam dois guarda-costas, imóveis como palmeiras em vasos. Os fatos de bom corte não chegavam para esconder que se encontravam ambos armados.
Lavon assentiu com a cabeça para os dois homens, não conseguindo sequer que pestanejassem, e depois olhou para a mulher. Tinha cabelo preto como a asa de um corvo, que lhe caía quase até aos ombros do casaco do fato escuro. Os olhos eram grandes e castanhos; o nariz, direito e proeminente. A impressão geral que a aparência dela comunicava era de seriedade, talvez com um traço de tristeza distante. Lavon olhou rapidamente para a mão esquerda dela e não viu nenhuma aliança de casamento nem anel de noivado no terceiro dedo. Estimou que tivesse talvez uns quarenta anos, a zona de perigo em matéria de solteironas. Não era feia, mas também não era propriamente bonita. A disposição subtil de ossos e carne que forma o rosto humano tinha conspirado para a tornar banal.
— Apresento-lhe Jihan Nawaz — anunciou Herr Weber. — Miss Nawaz é a nossa gestora de conta.
O cumprimento dela foi apenas ligeiramente mais simpático do que o que Lavon recebera da rececionista austríaca. Soltou-lhe a mão depressa e seguiu Herr Weber para dentro do gabinete. A mobília era moderna, mas confortável, e o chão estava coberto por uma alcatifa espessa que parecia absorver todo e qualquer som. Herr Weber indicou uma cadeira a Lavon e depois instalou-se à secretária.
— Em que o posso ajudar? — perguntou, subitamente muito sério.
— Estou interessado em deixar algum dinheiro ao vosso cuidado — respondeu Lavon.
— E posso perguntar como ouviu falar do nosso banco?
— Tenho um parceiro de negócios que é vosso cliente.
— E posso perguntar o nome dele?
— Preferia não dizer.
Herr Weber ergueu a palma da mão, como que a dizer que percebia perfeitamente.
— Mas tenho uma pergunta a fazer — disse Lavon. — É verdade que o banco passou por dificuldades há uns anos?
— É verdade, sim — admitiu Weber. — Como muitas instituições bancárias europeias, sofremos bastante com a queda do mercado imobiliário americano e a crise financeira daí resultante.
— E por isso o senhor foi obrigado a aceitar um sócio?
— Por acaso, fi-lo com prazer.
— O senhor Al-Siddiqi.
Weber assentiu com a cabeça, cautelosamente.
— Presumo que ele seja do Líbano, não?
— Por acaso, até é da Síria.
— É uma pena.
— O quê?
— A guerra — respondeu Lavon.
O rosto inexpressivo de Weber deixou bem claro que não estava interessado em falar da situação atual no país de origem do sócio.
— Fala alemão como se fosse de Viena — disse passado um momento.
— Vivi lá durante algum tempo.
— E agora?
— Tenho passaporte canadiano, mas prefiro considerar-me um cidadão do mundo.
— Hoje em dia, o dinheiro não conhece fronteiras.
— E é por isso que vim a Linz.
— E já cá tinha estado?
— Muitas vezes — respondeu Lavon com sinceridade.
O telefone de Weber tocou.
— Importa-se?
— Faça favor.
O austríaco levou o auscultador ao ouvido e ficou a fitar Lavon enquanto ouvia a voz do outro lado da linha. A alcatifa espessa engoliu-lhe a resposta murmurada. Desligou o telefone e perguntou:
— Onde é que nós íamos?
— Ia assegurar-me que o vosso banco é solvente e estável e que o meu dinheiro ficará bem entregue aqui.
— Ambas as afirmações são verdadeiras, Herr Adler.
— Mas a discrição também me interessa.
— Conforme decerto saberá — respondeu Weber —, a Áustria aceitou recentemente introduzir algumas modificações no seu sistema bancário para agradar aos vizinhos europeus. Ainda assim, as nossas leis de sigilo bancário continuam a ser das mais rigorosas do mundo.
— Segundo julgo saber, o vosso banco exige um limite mínimo de dez milhões de euros para os novos clientes.
— A nossa política é essa. — Fez uma pausa e depois perguntou: — Há algum problema, Herr Adler?
— De modo nenhum.
— Já calculava que fosse dizer isso. O senhor parece-me ser uma pessoa muito séria.
Herr Adler aceitou o elogio assentindo com a cabeça.
— E, dentro do banco, quem mais vai saber que eu tenho uma conta cá?
— Eu e Miss Nawaz.
— E o senhor Al-Siddiqi?
— O senhor Al-Siddiqi tem os clientes dele e eu tenho os meus.
Weber bateu ao de leve com a caneta de tinta permanente em ouro no mata-borrão de cabedal da secretária.
— Bom, Herr Adler, como deseja fazer?
— Pretendo deixar ao seu cargo dez milhões de euros. Queria que guardasse cinco milhões em dinheiro vivo. E queria que investisse o resto. Nada de muito complexo — acrescentou. — O meu objetivo é a preservação e não a criação de riqueza.
— Não vai ficar desiludido — respondeu Weber. — Mas gostaria de o avisar que cobramos pelos nossos serviços.
— Claro — retorquiu Lavon, sorrindo. — O sigilo tem o seu preço.
Armado com a caneta de tinta permanente em ouro, o banqueiro apontou alguns dos dados de Lavon, sendo que por acaso nenhum era verdadeiro. Como palavra-passe, escolheu «pedreira», uma referência ao fosso para trabalhos forçados em Mauthausen que não encontrou eco na cabeça reluzente de Herr Weber, que, veio a saber-se, nunca tivera tempo para ir visitar o memorial do Holocausto que ficava a poucos quilómetros da terra natal dele.
— A palavra-passe tem que ver com a natureza do meu trabalho — explicou Lavon, com um sorriso falso.
— Trabalha na indústria mineira, Herr Adler?
— Uma coisa do género.
Depois disso, o banqueiro levantou-se e deixou-o ao cuidado de Miss Nawaz, a gestora de conta. Era preciso preencher impressos, assinar declarações e estabelecer garantias de cumprimento, por ambas as partes, em matéria de sigilo e leis fiscais. O facto de terem sido acrescentados dez milhões de euros aos balancetes do Bank Weber pouco serviu para lhe suavizar o comportamento distante. Não era por natureza uma pessoa fria, analisou Lavon; havia outra coisa qualquer. Olhou para os dois guarda-costas que se encontravam à porta do gabinete de Waleed al-Siddiqi, o salvador sírio do Bank Weber AG. E depois olhou outra vez para Jihan Nawaz.
— Um cliente importante? — perguntou.
Ela fitou-o inexpressivamente.
— Como pretende prover a conta de dinheiro? — perguntou.
— Uma transferência bancária seria o mais conveniente.
Ela passou-lhe um papel onde estava escrito o routing number do banco.
— Tratamos já disso? — perguntou Lavon.
— Como queira.
Lavon sacou do telemóvel e ligou para um banco de confiança em Bruxelas que não sabia que tinha nas suas mãos grande parte dos fundos operacionais do Departamento para a Europa. Informou o banqueiro de que queria transferir dez milhões de euros para o Bank Weber AG de Linz, na Áustria, o mais rapidamente possível. Desligou e sorriu mais uma vez para Jihan Nawaz.
— O dinheiro chegar-vos-á o mais tardar amanhã ao meio-dia — anunciou.
— Quer que lhe telefone a confirmar?
— Por favor.
Herr Adler entregou-lhe um cartão de visita. Jihan Nawaz retribuiu entregando-lhe um dos dela.
— Se necessitar de mais alguma coisa, Herr Adler, por favor, não hesite em contactar-me. Ajudá-lo-ei no que puder.
Lavon enfiou o cartão no bolso do peito do casaco do fato, bem como o telemóvel. Levantando-se, apertou a mão a Jihan Nawaz uma última vez e dirigiu-se para a receção, onde a bonita rapariga austríaca o esperava. Ao avançar pelo corredor alcatifado, sentiu os olhos dos dois guarda-costas a queimarem-lhe a nuca, mas não se atreveu a espreitar por cima do ombro. Estava com medo, pensou. E Jihan Nawaz também.
Parece difícil de imaginar, mas houve tempos em que os seres humanos não sentiam necessidade de partilhar cada momento que passavam acordados com milhões, senão mesmo milhares de milhões, de completos e perfeitos desconhecidos. Se uma pessoa ia a um centro comercial comprar uma peça de roupa, não fazia publicações com atualizações a cada minuto numa rede social; e se fazia figuras tristes numa festa, não deixava um registo fotográfico desse episódio lamentável num álbum digital que sobreviveria para toda a eternidade. Mas atualmente, na era das inibições perdidas, parecia que nenhum pormenor da vida era demasiado trivial ou humilhante para ser partilhado. Nos tempos em linha, era mais importante viver sonoramente do que viver com dignidade. Os seguidores que se tinha na Internet eram mais prezados do que os amigos de carne e osso, já que traziam a promessa ilusória da celebridade, senão mesmo da imortalidade. Se Descartes fosse vivo, poderia ter escrito: Twitto, logo existo.
Há muito que os empregadores já tinham percebido que a presença em linha de um indivíduo dizia imenso sobre a sua personalidade. Sem surpresa, os vários serviços secretos do mundo também tinham descoberto a mesma coisa. No passado, os espiões tinham de abrir a correspondência alheia e vasculhar as gavetas de outra pessoa para ficar a saber os segredos mais íntimos de um potencial alvo ou recruta. Agora, bastava-lhes carregar numas teclas que os segredos lhes iam parar direitinhos ao colo: nomes de amigos e inimigos, amores perdidos e velhas feridas, paixões e desejos secretos. Nas mãos de um agente capaz, esses pormenores serviam de autêntico mapa das estradas para o coração humano. Permitiam-lhe premir qualquer botão, fazer uso de qualquer emoção, praticamente a bel-prazer. Por exemplo, era fácil amedrontar um alvo se esse alvo já tivesse entregado de livre vontade as chaves dos seus centros de medo. E o mesmo se aplicava se o agente quisesse alegrar o alvo.
Jihan Nawaz, gestora de conta no Bank Weber AG, nascida na Síria e naturalizada alemã, não era exceção. Com conhecimentos tecnológicos, era pioneira do Facebook, utilizadora inveterada do Twitter e tinha descoberto recentemente os prazeres do Instagram. Quando lhe rebuscou essas contas, a equipa descobriu que vivia num pequeno apartamento logo a seguir à Innere Stadt de Linz, tinha uma gata problemática chamada Cleópatra e que o carro, um velho Volvo, só lhe trazia chatices. Ficou a saber o nome dos bares e das discotecas que preferia, dos restaurantes que preferia e do café onde ia todas as manhãs, para beber o café e comer o pão da praxe, a caminho do emprego. E também ficou a saber que nunca tinha sido casada e que o último namorado sério a tratara de maneira deplorável. Acima de tudo, a equipa ficou a saber que nunca tinha conseguido penetrar na xenofobia natural dos austríacos e que se sentia sozinha. Era uma história que eles compreendiam bem. Jihan Nawaz, como os judeus antes dela, era a forasteira.
Curiosamente, Jihan Nawaz nunca falava em linha de dois elementos dessa vida: do sítio onde trabalhava nem do país onde tinha nascido. Tal como não havia referências ao banco nem à Síria nas montanhas de e-mails pessoais que os piratas informáticos da Unidade 8200, a agência de vigilância eletrónica israelita, desenterraram das variadíssimas contas dela. Eli Lavon, que tinha sentido o ambiente tenso dentro do banco, interrogou-se se Jihan estaria tão-só a seguir ordens impostas por Waleed al-Siddiqi, o homem que trabalhava atrás de uma porta fechada à chave, guardado por dois alauitas armados. Mas Bella Navot desconfiava que a origem do silêncio de Jihan tinha outra explicação. Por isso, enquanto o resto da equipa analisava minuciosamente os despojos digitais, Bella foi para as salas de arquivo da Investigação e começou a escavar.
As primeiras vinte e quatro horas de pesquisa não trouxeram nada de valor. A seguir, teve um pressentimento e foi buscar os dossiês antigos que tinha sobre um incidente que ocorrera na Síria, em fevereiro de 1982. Sob a orientação de Bella, o Departamento tinha produzido dois relatos finais do incidente — um documento altamente secreto, para uso interno da comunidade dos serviços secretos israelitas, e um livro branco não confidencial que foi divulgado publicamente por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros. As duas versões do relatório incluíam o testemunho ocular de uma rapariga, mas Bella não revelara o nome dela em nenhum dos documentos para lhe proteger a identidade. No entanto, nas profundezas dos dossiês pessoais de investigação, encontrava-se uma transcrição da declaração original da rapariga e, no final dessa transcrição, aparecia o seu nome. Passados dois minutos, quase sem respirar depois de uma corrida da Investigação até à Sala 456C, pousou o documento à frente de Gabriel com ar triunfante.
— É por causa de Hama. A coitadinha estava em Hama.
— E o que sabemos realmente do Waleed al-Siddiqi?
— O suficiente para termos a certeza de que é dele que andamos à procura, Uzi.
— Faz-me a vontade, Gabriel.
Navot tirou os óculos e massajou a cana do nariz, coisa que fazia sempre que não sabia bem como agir. Estava sentado à secretária, grande e de vidro, com um pé em cima do papel mata-borrão. Atrás dele, um Sol cor de laranja ia-se afundando lentamente na direção da superfície do Mediterrâneo. Gabriel ficou a observá-lo durante um momento. Há já muito tempo que não via o sol.
— É alauita — disse por fim — e vem de Alepo. Quando estava a trabalhar em Damasco, dizia fazer parte da família do presidente. Conforme poderás calcular, nenhuma das brochuras do Bank Weber faz referência a essas ligações de sangue.
— E qual é ao certo a ligação dele?
— Pelos vistos, é primo afastado da mãe, o que quer dizer bastante. Foi a mãe quem disse ao filho para cair com tudo em cima dos manifestantes.
— Até parece que tens andado a passar tempo com a minha mulher.
— E tenho.
Navot sorriu.
— Então o Waleed al-Siddiqi é um dos membros fundadores da Evil Incorporated?
— É o que estou a dizer, Uzi.
— E como enriqueceu?
— Começou a carreira na indústria farmacêutica estatal da Síria, o que também quer dizer bastante.
— Porque a indústria farmacêutica da Síria é uma extensão do programa de armas químicas e biológicas do país.
Gabriel assentiu com a cabeça lentamente.
— O Al-Siddiqi garantiu que boa parte dos lucros dessa indústria entrasse diretamente nos cofres da família. E também garantiu que as empresas ocidentais que quisessem fazer negócios na Síria pagassem por esse privilégio por via de subornos e comissões. E, algures pelo caminho, Al-Siddiqi tornou-se muito rico. — Fez uma pausa e depois acrescentou: — Suficientemente rico para comprar um banco.
Navot franziu o sobrolho.
— E quando saiu o Al-Siddiqi da Síria?
— Há quatro anos.
— Precisamente quando a Primavera Árabe estava no auge — realçou Navot.
— Não foi coincidência. O Al-Siddiqi andava à procura de um sítio seguro para gerir a fortuna da família. E descobriu um quando um pequeno banco de Linz entrou em dificuldades durante a Grande Recessão.
— Achas que o dinheiro está depositado em contas no Bank Weber?
— Uma parte — respondeu Gabriel. — E ele está a vigiar o resto servindo-se do Bank Weber como cartão de visita.
— E Herr Weber sabe?
— Não tenho a certeza.
— E a rapariga?
— Não — respondeu Gabriel. — Não sabe.
— Como podes ter a certeza?
— Porque um primo afastado do presidente sírio nunca ia confiar a uma rapariga de Hama o cargo de seu gestor de conta.
Navot pôs o pé no chão e pousou os fortes antebraços em cima da secretária. O vidro parecia estar em perigo de se partir sob o peso do seu poderoso corpo.
— Então qual é a tua ideia? — perguntou.
— Ela anda à procura de um amigo — respondeu Gabriel. — E eu vou dar-lhe um.
— Rapaz ou rapariga?
— Rapariga — respondeu Gabriel. — Sem dúvida, uma rapariga.
— E quem estás a pensar usar?
Gabriel respondeu-lhe.
— Ela é analista.
— E fala alemão e árabe fluentemente.
— E de que tipo de abordagem estamos a falar?
— Dura, lamento dizê-lo.
— E a bandeira?
— Posso assegurar-te que não vai ser azul e branca.
Navot sorriu. Quando trabalhava no terreno como katsa, as operações de falsa bandeira eram a sua especialidade. Fazia passar-se frequentemente por agente dos serviços secretos alemães quando recrutava espiões de países árabes ou dentro das fileiras de organizações terroristas. Era mais fácil convencer um árabe a trair o país, ou a causa em que acreditava, se esse árabe não soubesse que estava a trabalhar para o Estado de Israel.
— E o que estás a pensar fazer em relação à Bella? — perguntou.
— Ela quer ir para o terreno. Disse-lhe que a decisão era tua.
— A mulher do chefe não vai para o terreno.
— Ela vai ficar desapontada.
— Já estou habituado.
— E tu, Uzi?
— E eu o quê?
— Dava-me jeito que ajudasses no recrutamento.
— Porquê?
— Porque os teus avós viveram em Viena antes da guerra e tu falas alemão como um pastor de cabras austríaco.
— É melhor do que esse teu horroroso sotaque de Berlim.
Navot olhou para os monitores de vídeo na parede, que mostravam uma família na cidade sitiada de Homs a preparar uma refeição de ervas daninhas cozidas. Era a única coisa que ainda havia na cidade para comer.
— Só precisas de pensar em mais uma coisa — disse. — Se cometeres o mais pequeno erro que seja, o Waleed al-Siddiqi vai cortar essa rapariga aos bocadinhos e atirá-la para o Danúbio.
— Por acaso — retorquiu Gabriel —, primeiro até vai deixar que os rapazes se divirtam um bocadinho com ela. E só depois a vai matar.
Navot desviou os olhos dos monitores e fitou Gabriel com um ar sério.
— Tens a certeza de que queres ir para a frente com isto?
— Absoluta.
— Estava com esperanças que fosses dizer isso.
— E o que vamos fazer em relação à Bella?
— Leva-a. Ou, melhor ainda, envia-a logo para Damasco.
Navot olhou outra vez para os monitores de vídeo e abanou a cabeça lentamente.
— O raio desta guerra acabava numa semana.
Mais tarde, nessa mesma noite, o Guardian de Londres publicou uma notícia que acusava o regime sírio de recorrer à tortura e ao assassínio em escala industrial. A notícia baseava-se num conjunto de fotografias que o homem que as tinha tirado fizera sair clandestinamente da Síria. Mostravam os corpos de milhares de pessoas, maioritariamente rapazes, que tinham morrido enquanto estavam detidos pelo governo. Alguns tinham sido mortos a tiro. Outros apresentavam marcas de enforcamento ou eletrocussão. E outros ainda já não tinham olhos. Pareciam quase todos esqueletos humanos.
Foi com esse pano de fundo que a equipa levou a cabo os preparativos finais. Adquiriram à Divisão de Logística duas propriedades seguras — um pequeno apartamento no centro de Linz e uma grande villa amarelo-acastanhada, nas margens do Attersee, quarenta quilómetros para sul. A Divisão de Transportes tratou dos carros e das motas; a Divisão de Identidade, dos passaportes. Gabriel tinha vários por onde escolher, mas acabou por se decidir por Jonathan Albright, um americano que trabalhava para uma coisa chamada Markham Capital Advisers, de Greenwich, no Connecticut. Albright não era um consultor financeiro vulgar. Recentemente, tinha conseguido tirar um espião russo de São Petersburgo e infiltrá-lo clandestinamente no Ocidente. E, antes disso, introduzira um carregamento de centrifugadoras sabotadas na cadeia de fornecimento nuclear do Irão.
Quando terminaram os preparativos, os membros da equipa saíram da Avenida Rei Saul e dirigiram-se para os respetivos «pontos de transição rápida», uma constelação de apartamentos seguros na zona de Telavive onde os agentes de campo do Departamento assumiam as novas identidades antes de partirem de Israel para as missões. Como de costume, viajaram para o destino final a horas diferentes e por percursos diferentes, para não levantar suspeitas junto das autoridades de imigração locais. Mordecai e Oded foram os primeiros a chegar à Áustria; Dina Sarid, a última. O passaporte identificava-a como Ingrid Roth, natural de Munique. Passou uma única noite na villa junto ao Attersee. Depois, às doze horas do dia seguinte, ocupou o apartamento de Linz. Nessa noite, quando estava à janela da exígua sala de estar, viu um velho Volvo a chocalhar até parar à entrada do prédio, do outro lado da rua. A mulher que saiu do lugar do condutor era Jihan Nawaz.
Dina tirou uma fotografia a Jihan e enviou-a por via segura para a Sala 456C, onde Gabriel se encontrava a trabalhar até tarde, tendo como única companhia os dossiês de Bella sobre o massacre de Hama. Saiu da Avenida Rei Saul quando passavam poucos minutos das dez e, ignorando os procedimentos normais do Departamento, voltou para o apartamento da Rua Narkiss para passar a última noite em Israel com a mulher. Ela estava a dormir quando ele chegou; enfiou-se na cama sem fazer barulho e pôs-lhe a mão em cima do abdómen. Ela mexeu-se, deu-lhe um beijo ensonado e depois adormeceu novamente. E de manhã, quando acordou, ele já lá não estava.
As muitas versões da cara de Gabriel eram conhecidas dos serviços de segurança austríacos, por isso a Divisão de Viagens achou melhor encaminhá-lo para Munique. Passou sem problemas pela fiscalização de passaportes, na pele de um americano sorridente e endinheirado, e a seguir foi num autocarro do aeroporto para o parque de estacionamento de longa duração, onde a Divisão de Transportes lhe tinha deixado um Audi A7 impossível de localizar. A chave estava escondida dentro de uma caixa magnética, no compartimento interior da roda esquerda traseira. Gabriel tirou-a de lá com um movimento rápido da mão e, pondo-se de cócoras, revistou a parte de baixo do carro, à procura de sinais de bomba. Ao não ver nada fora do normal, sentou-se ao volante e ligou o motor. O rádio tinha ficado ligado; uma mulher com uma voz baixa e entediada estava a ler um noticiário na Deutschlandfunk. Ao contrário de muitos compatriotas, Gabriel não se contraía quando ouvia alemão. Era a língua que tinha ouvido no ventre da mãe e, mesmo depois daquele tempo todo, continuava a ser a língua em que sonhava. Nos sonhos, quando Chiara falava com ele, fazia-o em alemão.
Encontrou o talão de estacionamento no sítio onde a Divisão de Transportes lhe tinha dito que estaria — na consola central, enfiado num folheto sobre os clubes noturnos mais picantes de Munique — e arrancou com a prudência de um estrangeiro, em direcção à saída. O tempo que o funcionário do parque demorou a examinar o talão chegou para Gabriel sentir na espinha a primeira descarga de eletricidade daquela operação. Depois, o braço da cancela ergueu-se e ele seguiu até à entrada da autobahn. Enquanto avançava sob a luz do sol da Baviera, ia sendo fustigado a cada segundo por recordações. À direita, pairando sobre a linha dos telhados de Munique, encontrava-se a futurista Torre Olímpica, por baixo da qual o Setembro Negro tinha levado a cabo o ataque que deu início à carreira de Gabriel. E, uma hora mais tarde, quando atravessou a fronteira para a Áustria, a primeira cidade em que entrou foi Braunau am Inn, a terra natal de Hitler. Tentou não pensar em Viena, mas a capacidade que tinha para a compartimentação não dava para tanto. Ouviu o motor de um carro a hesitar antes de começar a trabalhar e viu um clarão de fogo a erguer-se sobre uma rua elegante. E voltou a sentar-se à cabeceira da cama de hospital de Leah e contou-lhe que o filho tinha morrido. Devíamos ter ficado em Veneza, meu amor. As coisas teriam sido diferentes… Sim, pensou naquele momento. As coisas seriam diferentes. Teria um filho com vinte e cinco anos. E nunca se teria apaixonado por uma linda rapariga do gueto chamada Chiara Zolli.
A casa onde Hitler tinha nascido ficava no número 15 da Salzburger Vorstadt, não muito longe da principal praça comercial de Braunau. Gabriel estacionou à frente dela, do outro lado da rua, e deixou-se ficar ali durante um momento, com o motor em ponto-morto, perguntando a si mesmo se teria forças para fazer aquilo. Foi então que, repentinamente, abriu a porta do carro e obrigou-se a atravessar a rua decididamente, como se quisesse eliminar a opção de dar meia-volta. Vinte e cinco anos antes, o presidente da câmara de Braunau resolvera colocar uma pedra comemorativa à entrada da casa. Fora extraída da pedreira de Mauthausen e tinha gravada uma inscrição que não referia especificamente os judeus nem o Holocausto. Sozinho, Gabriel ficou parado diante dela, a pensar não no assassínio de seis milhões de pessoas mas na guerra que estava a decorrer a mais de três mil e duzentos quilómetros para sudeste, na Síria. Apesar de todos os livros, documentários, memoriais e declarações universais dos direitos humanos, um ditador estava outra vez a matar o próprio povo com gás tóxico e a transformá-lo em esqueletos humanos em campos de concentração e prisões. Era quase como se as lições do Holocausto tivessem sido esquecidas. Ou talvez, pensou Gabriel, nunca tivessem sequer sido aprendidas.
Um casal de jovens alemães — os sotaques característicos revelavam que eram da Baviera — juntou-se a ele defronte da pedra e falou de Hitler como se fosse um tirano de pouca monta de um império longínquo. Desanimado, Gabriel voltou para o carro e partiu para a Áustria Superior. Ainda havia neve nos picos mais altos das montanhas, mas, nos vales, onde se encontravam as aldeias, os prados refulgiam com flores silvestres. Entrou em Linz quando passavam poucos minutos das duas e estacionou perto da Catedral Nova. A seguir, esteve uma hora a inspecionar o que seria em breve o campo de batalha mais bucólico da guerra civil síria. Em Linz, era a época dos festivais. Tinha acabado de terminar um festival de cinema; e um festival de jazz iria começar dentro de pouco tempo. Austríacos pálidos bronzeavam-se nos relvados verdes do Parque do Danúbio. Lá no alto, uma única nuvem, que lembrava algodão, atravessou rápida e suavemente o céu azul, como um balão de barragem solto das amarras.
O último ponto da inspeção de Gabriel foi a rotunda dos elétricos ao lado do Bank Weber AG. Estacionado em frente à entrada singela do banco, com o motor a roncar em ponto-morto, estava uma limusina Mercedes Maybach preta. Tendo em conta a pouca distância entre o chassis e as rodas, estava fortemente blindada. Gabriel sentou-se num banco e deixou que passassem dois elétricos. Depois, quando um terceiro se estava a aproximar da paragem, viu um homem elegantemente vestido a sair do banco e a enfiar-se rapidamente na parte de trás da limusina. Tinha uma cara difícil de esquecer, devido às maçãs do rosto marcadas e à boca invulgarmente pequena e reta. Passados uns segundos, o carro arrancou a toda a velocidade, passando junto ao ombro de Gabriel, como um borrão preto. O homem tinha agora um telemóvel colado de forma tensa ao ouvido. O dinheiro nunca dorme, pensou Gabriel. Nem sequer o dinheiro manchado de sangue.
Quando um quarto elétrico deslizou para a rotunda, Gabriel subiu a bordo e atravessou nele para a outra margem do Danúbio. Revistou uma segunda vez a parte de baixo do carro para ter a certeza de que não tinham mexido nele enquanto estivera ausente. A seguir, dirigiu-se para o Attersee. A casa segura ficava na margem oeste do lago, perto da cidade de Litzlberg. Havia um portão de madeira e, depois deste, espraiava-se um caminho de entrada com pinheiros e trepadeiras em flor de ambos os lados. Estavam vários carros estacionados no pátio de entrada, incluindo um velho Renault com matrícula corsa. O dono encontrava-se à porta da villa, que estava aberta, e trazia roupa formal, umas calças cor de caqui largueironas e um pulôver de algodão amarelo.
— Peter Rutledge — disse, estendendo a mão a Gabriel, com um sorriso. — Bem-vindo a Shangri-La.
Deviam aparentar estar de férias, daí os romances de bolso abertos em cima das poltronas, os volantes de badmínton espalhados pelo relvado e o reluzente barco a motor de madeira, alugado pela principesca quantia de vinte e cinco mil euros por semana, a dormitar no final de uma doca comprida. No entanto, dentro da villa, reinava a seriedade. As paredes da sala de jantar estavam repletas de mapas e fotografias de vigilância e, em cima da mesa formal, havia vários notebooks abertos. O ecrã de um mostrava um plano fixo de uma mansão moderna de vidro e aço situada nas colinas acima de Linz. Outro mostrava a entrada do Bank Weber AG. Às cinco e dez, Herr Weber em pessoa apareceu à porta e entrou num BMW sóbrio. Passados dois minutos, surgiu uma rapariga tão pálida e bonita que quase nem parecia real. Depois da rapariga, veio Jihan Nawaz. Atravessou a praçazinha depressa e entrou num elétrico que se encontrava parado. E embora ela não o soubesse, o homem bexigoso sentado do outro lado da coxia era um agente dos serviços secretos israelitas chamado Yaakov Rossman. Foram no elétrico até à Mozartstrasse, cada qual a olhar para o seu espaço, e depois seguiram caminhos distintos — Yaakov foi para oeste e Jihan para leste. Quando chegou ao prédio de apartamentos onde vivia, viu Dina Sarid a sair de uma cintilante motorizada azul, do outro lado da rua. As duas mulheres trocaram um sorriso fugidio. Depois, Jihan entrou no prédio e subiu as escadas até ao apartamento. Dois minutos mais tarde, escreveu uma mensagem no Twitter, anunciando que estava a pensar ir mais à noite beber um copo ao Bar Vanilli. Não houve respostas.
Durante os três dias que se seguiram, as duas mulheres circularam pelas ruas sossegadas de Linz sem que os seus caminhos se cruzassem. Estiveram quase a encontrar-se na esplanada do Museu de Arte Moderna e protagonizaram uma rápida troca de olhares no meio das bancas do Alter Markt. Mas, tirando isso, o destino parecia estar a conspirar para as manter afastadas. Pareciam destinadas a continuar a ser vizinhas que não se falavam, desconhecidas que olhavam uma para a outra à distância de um abismo que não podia ser superado.
Mas, sem Jihan Nawaz o saber, já se encontrava predeterminado que acabariam por se conhecer. Aliás, isso estava a ser ativamente engendrado por um grupo de homens e mulheres a atuar numa linda villa junto à margem de um lago a trinta e dois quilómetros para sudoeste. Não era uma questão de saber se as duas mulheres se iriam conhecer, apenas quando. A equipa só precisava de mais uma prova.
E esta chegou na madrugada do quarto dia, quando ouviram Hamid Khaddam, o advogado que representava a LXR Investments desde Londres, a abrir duas contas num banco de reputação duvidosa das Ilhas Caimão. A seguir, ligou para casa de Waleed al-Siddiqi, em Linz, e informou-o de que as contas já podiam receber fundos. O dinheiro chegou passadas vinte e quatro horas, numa transação que foi acompanhada pelos piratas informáticos da Unidade 8200. A primeira conta recebeu uma verba no valor de 20 milhões de dólares, que passaram pelo Bank Weber AG. A segunda recebeu 25 milhões de dólares.
Assim, já só restava alinhavar a hora, o local e as circunstâncias em que as duas mulheres se iriam conhecer. A hora seria às cinco e meia da tarde seguinte; o local seria a Pfarrplatz. Dina estava sentada na esplanada do Café Meier, a ler uma edição a desfazer-se de Os Despojos do Dia, quando Jihan passou sozinha à frente da mesa dela, com um saco das compras pendurado na mão. Parou de repente, deu meia-volta e aproximou-se da mesa.
— Mas que coincidência — disse em alemão.
— O quê? — respondeu Dina na mesma língua.
— Está a ler o meu livro preferido.
— Bom, livre-se de me contar como é que acaba.
Dina pousou o romance em cima da mesa e estendeu a mão.
— Ingrid — disse. — Acho que vivo à sua frente.
— Também acho que sim. Jihan — respondeu, com um sorriso. — Jihan Nawaz.
Foram a pé para um sítio pequeno, não muito longe dos respetivos apartamentos, onde podiam beber um pouco de vinho. Dina pediu um Riesling austríaco, sabendo perfeitamente que, tal como Os Despojos do Dia, o Riesling era o preferido de Jihan. O empregado encheu-lhes os copos e foi-se embora. Jihan levantou o dela e brindou a uma nova amizade. Depois sorriu, embaraçada, como se temesse estar a adiantar as coisas. Parecia ansiosa, nervosa.
— Não chegaste há muito tempo a Linz — disse.
— Há dez dias — respondeu Dina.
— E vieste de onde?
— Vivia em Berlim.
— Berlim é muito diferente de Linz.
— Muito — concordou Dina.
— Então porque vieste para cá? — Jihan fez outro sorriso de embaraço. — Desculpa. Não devia ser metediça. É o meu pior defeito.
— Meteres-te na vida dos outros?
— Sou uma abelhuda do piorio — respondeu, assentindo com a cabeça. — Estás à vontade para me dizer para me meter na minha vida quando te apetecer.
— Isso nunca me passaria pela cabeça.
Dina olhou fixamente para o copo.
— Eu e o meu marido acabámos de nos divorciar. Resolvi que precisava de mudar de vida e vim para cá.
— E porquê Linz?
— Costumava passar os verões com a minha família num lago da Áustria Superior. Sempre adorei isto.
— E qual era o lago?
— O Attersee.
A longa sombra de um campanário de igreja estendia-se pela rua, em direção à mesa delas. Yossi Gavish e Rimona Stern atravessaram-na, rindo, como se estivessem entretidos com uma piada privada. Recentemente divorciada, Ingrid Roth pareceu ficar triste ao ver um casal feliz. Jihan pareceu irritada.
— Mas não foste criada na Alemanha, pois não, Ingrid?
— Porque perguntas?
— Não falas como uma alemã.
— O meu pai trabalhava em Nova Iorque — explicou Dina. — Cresci em Manhattan. Quando era nova, recusava-me a falar alemão em casa. Achava que não era nada fixe.
Se Jihan desconfiou da explicação, não deu mostras disso.
— E estás a trabalhar aqui em Linz? — perguntou.
— Imagino que isso dependa da tua definição de estar a trabalhar.
— Para mim, é ir todas as manhãs para um escritório.
— Então não há dúvida de que não estou a trabalhar.
— E então porque cá estás?
Estou cá por causa de ti, pensou Dina. E depois explicou que tinha vindo para Linz escrever um romance.
— És escritora?
— Ainda não.
— E do que trata o teu livro?
— É uma história de amor não correspondido.
— Como o Stevens e a Miss Kenton?
Jihan apontou com a cabeça para o romance que estava em cima da mesa, entre ambas.
— Um bocadinho.
— E a história passa-se aqui em Linz?
— Por acaso, é em Viena — respondeu Dina. — Durante a guerra.
— A Segunda Guerra Mundial?
Dina assentiu com a cabeça.
— E as tuas personagens são judias?
— Uma é.
— O rapaz ou a rapariga?
— O rapaz.
— E tu?
— E eu o quê?
— És judia, Ingrid?
— Não, Jihan — respondeu Dina. — Não sou judia. — O rosto de Jihan manteve-se imperturbável. — Então e tu? — perguntou mudando de assunto.
— Também não sou judia — respondeu Jihan, sorrindo.
— E também não és austríaca.
— Cresci em Hamburgo.
— E antes disso?
— Nasci no Médio Oriente.
Fez uma pausa, e depois acrescentou:
— Na Síria.
— Uma guerra mesmo horrível — disse Dina, num tom distante.
— Se não te importas, Ingrid, prefiro não falar da guerra. Deprime-me.
— Então vamos fazer de conta que a guerra não existe.
— Pelo menos, para já.
Jihan tirou um maço de tabaco da carteira; e quando acendeu um, Dina percebeu que ela tinha a mão a tremer ligeiramente. Ao começar a inalar o cigarro, pareceu ficar mais calma.
— Não me vais perguntar o que eu estou a fazer em Linz?
— O que estás a fazer em Linz, Jihan?
— Um homem do meu país comprou uma participação num pequeno banco privado daqui. Precisava de ter no corpo de funcionários uma pessoa que falasse árabe.
— E qual é o banco? — Jihan respondeu com sinceridade. — Imagino que o homem do teu país não se chame Weber — comentou Dina.
— Não.
Jihan hesitou e depois disse:
— Chama-se Waleed al-Siddiqi.
— E que género de trabalho fazes?
Jihan pareceu ficar agradecida pela mudança de assunto.
— Sou a gestora de conta.
— Parece importante.
— Posso garantir-te que não é. Principalmente, o que eu faço é abrir e fechar contas para os nossos clientes. E também supervisiono as transações com os outros bancos e instituições financeiras.
— E é assim tão sigiloso como toda a gente diz?
— O sistema bancário austríaco?
Dina assentiu com a cabeça.
Jihan fez uma expressão severa.
— O Bank Weber leva a privacidade dos clientes muito a sério.
— Isso parece o slogan de uma brochura.
Jihan sorriu.
— E é.
— Então e o senhor Al-Siddiqi? — perguntou Dina. — Também leva a privacidade dos clientes a sério?
O sorriso de Jihan desvaneceu-se. Deu uma baforada no cigarro e pôs-se a olhar nervosamente para um lado e para o outro da rua deserta.
— Preciso de te pedir um favor, Ingrid — disse por fim.
— O que quiseres.
— Não me faças perguntas sobre o senhor Al-Siddiqi, peço-te. Aliás, preferia que nunca mais voltasses a mencionar o nome dele.
Passados trinta minutos, na casa segura junto ao Attersee, Gabriel e Eli Lavon estavam sentados diante de um computador portátil, a ouvir as duas mulheres a despedirem-se na rua, em frente aos respetivos prédios. Quando Dina já se encontrava em segurança no apartamento, Gabriel puxou a barra do leitor de áudio até ao início e ouviu uma segunda vez todo aquele encontro. E depois ouviu-o de novo. E poderia tê-lo passado pela quarta vez se Eli Lavon não tivesse esticado o braço e carregado no botão de stop.
— Eu disse-te que era ela — atirou Lavon.
Gabriel fez uma careta. Avançou a barra até às 17h47 e carregou no play.
— E as tuas personagens são judias?
— Uma é.
— O rapaz ou a rapariga?
— O rapaz.
— E tu?
— E eu o quê?
— És judia, Ingrid?
— Não, Jihan. Não sou judia.
Gabriel carregou no stop e olhou para Lavon.
— Não se pode ter tudo, Gabriel. Além disso, a parte importante é esta.
Lavon fez a barra avançar e voltou a carregar no play.
— … o que eu faço é abrir e fechar contas para os nossos clientes. E também supervisiono as transações com os outros bancos e instituições financeiras.
stop.
— Estás a ver onde eu quero chegar? — perguntou Lavon.
— Não sei bem se chegaste a algum lado.
— Flirta com ela. Põe-na à vontade. E depois fá-la aterrar. Mas, faças o que fizeres — acrescentou Lavon —, não demores muito. Não queria que o senhor Al-Siddiqi descobrisse que a Jihan tem uma amiga nova que pode ou não ser judia.
— Achas que ele se ia importar?
— Era capaz.
— Então como devemos fazer?
Lavon avançou com a barra e carregou no play.
— Foi um prazer conhecer-te, Ingrid. Só tenho pena de não termos feito nada juntas mais cedo.
— Então não deixemos passar outros dez dias.
— Queres ir almoçar amanhã?
— Costumo trabalhar à hora do almoço.
Lavon carregou no stop.
— Acho que a Ingrid anda a trabalhar demasiado, não achas?
— É capaz de ser perigoso estar a quebrar o ritmo da rotina de escrita.
— Às vezes, uma mudança pode ajudar. E quem sabe? Se calhar, até fica inspirada para escrever um romance diferente.
— E qual seria a história?
— Sobre uma rapariga que decide trair o patrão quando descobre que ele anda a esconder dinheiro para o pior homem do mundo.
— E como acaba?
— Ganham os bons.
— E alguém faz mal à rapariga?
— Envia a mensagem, Gabriel.
Gabriel enviou rapidamente um e-mail encriptado a Dina dizendo-lhe para marcar um almoço com Jihan Nawaz para o dia seguinte. Depois puxou a barra do leitor de áudio para trás e carregou no play pela última vez.
— Então e o senhor Al-Siddiqi? Também leva a privacidade dos clientes a sério?
— Preciso de te pedir um favor, Ingrid.
— O que quiseres.
— Não me faças perguntas sobre o senhor Al-Siddiqi, peço-te. Aliás, preferia que nunca mais voltasses a mencionar o nome dele.
stop.
— Ela sabe — disse Lavon. — A única questão é se sabe muito ou pouco.
— Desconfio que chegue para que a matem.
— As Regras de Hama?
Gabriel assentiu com a cabeça lentamente.
— Então suponho que só nos reste uma opção.
— Qual, Eli?
— Também vamos ter de seguir as Regras de Hama.
No dia seguinte, as duas mulheres almoçaram no Ikaan e, na noite depois dessa, foram tomar um copo ao Bar Vanilli. Gabriel deixou que passassem dois dias sem haver mais contactos, em parte por precisar de transferir um determinado ativo de Israel para o Attersee, nomeadamente, Uzi Navot. Foi então que, na quinta-feira dessa semana, Jihan e Dina tiveram um encontro acidental no Alter Markt que não foi acidente nenhum. Jihan convidou Dina para ir tomar café, mas Dina pediu desculpa e disse que tinha de ir escrever.
— Mas já tens planos para sábado? — perguntou.
— Ainda não sei bem. Porquê?
— Uns amigos meus vão dar uma festa.
— Que género de festa?
— Comida, bebida, passeios de barco no lago. As coisas habituais que as pessoas fazem num sábado à tarde no verão.
— Não me queria estar a impor.
— E não vais estar. Aliás — acrescentou Dina —, tenho a certeza absoluta de que os meus amigos vão fazer de ti a convidada de honra.
Jihan sorriu.
— Vou precisar de um vestido novo.
— E de um fato de banho — disse Dina.
— Podes ir às compras comigo agora?
— Claro.
— Então e o teu livro?
— Há tempo para isso depois.
Tinham duas opções em matéria de transportes: a pequena motorizada de Dina ou o Volvo inconstante de Jihan. Escolheram o Volvo inconstante. Saiu da Innere Stadt a chocalhar quando passavam poucos minutos do meio-dia e, ao meio-dia e meia, tinham deixado para trás os últimos subúrbios de Linz e estavam a atravessar a Salzkammergut a toda a velocidade na A1. O tempo tinha conspirado para criar a ilusão de alegria. O sol brilhava no céu limpo e o ar que lhes entrava pelas janelas abertas era fresco e suave. Jihan trazia o vestido de alças branco que Dina lhe tinha escolhido e uns óculos de sol grandes à estrela de cinema que lhe ocultavam as feições vulgares. Tinha as unhas recém-pintadas; o seu perfume era quente e inebriante. Encheu Dina de culpa. Proporcionara uma falsa felicidade a uma mulher solitária e sem amigos. Era, pensou, a maior das traições femininas.
Guardara na carteira as indicações com o caminho, que tirou de lá quando saíram na A1 e entraram em Atterseestrasse. Gabriel insistira que as levasse e, naquele momento, com a consciência a revoltar-se, trazia-as bem agarradas enquanto orientava Jihan até ao destino final. Passaram por uma cidadezinha turística e depois por uma extensão de terra cultivada em forma de tabuleiro de damas. O lago encontrava-se à esquerda, azul-escuro e delimitado por montanhas verdes. Fazendo o papel de guia turística, Dina indicou a pequena ilhazinha, à qual se chegava por um pontão, onde Gustav Klimt tinha pintado as célebres paisagens do Attersee.
Depois da ilha, havia uma marina, com barcos à vela a reluzir atracados, e depois da marina ficava um conjunto de villas junto ao lago. Dina fingiu estar momentaneamente confundida em relação a qual pertencia ao anfitrião delas. De súbito, apontou para um portão aberto, como se tivesse ficado surpreendida por terem lá chegado tão depressa. Jihan virou o carro para a esquerda com destreza e avançou lentamente pelo caminho de entrada. Dina agradeceu o cheiro intenso dos pinheiros e das trepadeiras em flor, pois submergiu temporariamente o aroma acusatório do perfume de Jihan. Estavam vários carros estacionados de modo descuidado à sombra do pátio de entrada. Jihan arranjou um lugar e desligou o motor. Depois esticou-se para o banco de trás para tirar de lá as flores e o vinho que tinha trazido de presente. Quando saíram do carro, ouvia-se música, transbordante, de uma janela aberta: Trust in Me, de Etta James.
A porta principal da villa também estava aberta. Quando Dina e Jihan se aproximaram, surgiu um homem no fim da meia-idade, com cabelo ralo e esvoaçante. Vestia uma camisa formal azul-ultramarino, calças de linho claras e usava um grande relógio de ouro. Estava a sorrir com simpatia, mas os olhos castanhos mostravam-se atentos e vigilantes. Jihan deu uns passos na direção dele e ficou paralisada. Virou a cabeça para Dina, que parecia não ter reparado na apreensão dela.
— Gostava de te apresentar um velho amigo da minha família — disse esta. — Jihan Nawaz, Feliks Adler.
Jihan não se mexeu um milímetro, sem saber bem se devia avançar ou recuar, enquanto o homem que ela conhecia como Feliks Adler começou a descer os degraus lentamente. Ainda a sorrir, ficou-lhe com as flores e o vinho. E depois olhou para Dina.
— A verdade é que eu e Miss Nawaz já nos conhecemos. — Desviou o olhar de Dina para Jihan. — Mas ela não te pode dizer isso porque seria uma violação das práticas do sistema bancário privado austríaco.
Fez uma pausa suficientemente longa para estampar outro sorriso na cara.
— Não é verdade, Miss Nawaz?
Jihan continuou calada. Estava a olhar fixamente para as flores que Herr Adler tinha na mão.
— Não foi coincidência eu ter aberto uma conta no Bank Weber há duas semanas — disse passado um momento. — E também não é coincidência a menina estar aqui hoje. É que, sabe, Miss Nawaz, eu e a Ingrid somos mais do que velhos amigos. Também somos colegas.
Jihan fulminou Dina com um olhar tenebroso de fúria. A seguir, fitou novamente o homem que conhecia como Herr Adler. Quando falou por fim, a voz saiu-lhe cavernosa do medo.
— O que querem de mim? — perguntou.
— Temos um problema grave — respondeu ele. — E precisamos que nos ajude a resolvê-lo.
— Que tipo de problema?
— Entre, Jihan. Aqui ninguém lhe vai poder fazer mal.
Sorriu e agarrou-lhe delicadamente no cotovelo.
— Beba um copo de vinho. Junte-se à festa. Venha conhecer o resto dos nossos amigos.
Estava uma mesa posta com comida e bebidas no salão da villa. Ninguém tinha tocado em nada, por isso, a sensação era de uma comemoração cancelada ou, no mínimo, adiada. Um vento suave entrava pelas portas duplas abertas, trazendo consigo um ou outro roncar dos barcos a motor que iam passando. Na ponta mais distante do salão, havia uma lareira apagada, ao pé da qual Gabriel se encontrava sentado, a examinar um dossiê aberto. Trazia um fato escuro de executivo, sem gravata, e estava irreconhecível com uma peruca grisalha, lentes de contacto e óculos. Uzi Navot estava sentado ao lado dele, com uma indumentária semelhante, e ao lado de Navot estava Yossi Gavish. Trazia calças de sarja e um blazer amarrotado e fitava o teto, como se fosse um viajante a morrer de tédio.
A chegada de Jihan despertou apenas Gabriel. Fechou o dossiê, pousou-o em cima da mesinha de apoio à frente dele e levantou-se devagar.
— Jihan — disse, com um sorriso bondoso. — Ainda bem que veio.
Avançou para ela com cautela, como um adulto a aproximar-se de uma criança perdida.
— Peço-lhe desculpa pelo nosso convite pouco ortodoxo, mas foi tudo para a proteger.
Disse isso em alemão, no seu característico dialeto berlinense. O que não passou despercebido a Jihan, a síria de Hamburgo que agora vivia em Linz.
— Quem é você? — perguntou passado um momento.
— Preferia não começar esta conversa mentindo-lhe — respondeu ele, continuando a sorrir —, por isso não me vou dar ao trabalho de lhe dizer um nome. Trabalho para um ministério responsável pelos assuntos relacionados com a tributação e as finanças.
Apontou para Navot e Yossi.
— Estes senhores também trabalham para os respetivos governos. O sujeito grande e com um ar pouco satisfeito é austríaco e o tipo todo amarrotado sentado ao lado dele é britânico.
— E eles? — perguntou Jihan, apontando com a cabeça para Lavon e Dina.
— A Ingrid e Herr Adler pertencem-me.
— São muito bons.
Lançou uma mirada feroz a Dina, semicerrando os olhos.
— Sobretudo ela.
— Peço desculpa por a termos enganado, Jihan, mas não tínhamos escolha. Foi tudo para sua segurança.
— Segurança?
Avançou um passo para ela.
— Queríamos falar consigo de maneira que não causasse suspeitas ao seu patrão.
Fez uma pausa e depois acrescentou:
— O senhor Al-Siddiqi.
Ela pareceu retrair-se ao ouvir o nome. Gabriel fingiu não ter reparado.
— Imagino que tenha trazido o telemóvel, certo? — perguntou, como se tivesse acabado de se lembrar disso.
— Claro.
— É capaz de o passar à Ingrid, por favor? É importante que desliguemos todos os nossos dispositivos móveis antes de continuarmos esta conversa. Nunca se sabe quem pode estar a ouvir.
Jihan tirou o telemóvel da carteira e entregou-o a Dina, que o desligou e se afastou em silêncio para a sala do lado. Gabriel foi novamente até à mesinha de apoio para ir buscar o dossiê. Abriu-o de forma solene, como se incluísse material que preferiria não tornar público.
— Lamento informá-la, mas o banco onde trabalha encontra-se a ser investigado há algum tempo — disse passado um momento. — Trata-se de uma investigação internacional, como pode ver pela presença dos meus homólogos austríaco e britânico. E trouxe a lume provas consideráveis que indicam que o Bank Weber AG não passa de um empreendimento criminoso envolvido em lavagem de dinheiro, fraude e ocultação ilegal de ativos e rendimentos tributáveis. O que quer dizer que a Jihan está metida num grande sarilho.
— Sou só a gestora de conta.
— Exato.
Tirou uma folha do dossiê e mostrou-lha.
— Sempre que alguém abre uma conta no Bank Weber, a sua assinatura aparece em toda a documentação correspondente, Jihan. E também é a Jihan quem trata da maior parte das transferências do banco.
Tirou outra folha do dossiê, embora a tivesse consultado desta vez em privado.
— Por exemplo, transferiu recentemente uma quantia bastante avultada para o Trade Winds Bank das Ilhas Caimão.
— Como sabe dessa transferência?
— Na realidade, até foram duas: uma no valor de vinte e cinco milhões de dólares e a outra de uns míseros vinte milhões. As contas para onde o dinheiro foi enviado são geridas pela LXR Investments. Um advogado chamado Hamid Khaddam abriu-as por ordem do senhor Al-Siddiqi. O Hamid Khaddam é de Londres. Mas nasceu na Síria.
Gabriel desviou o olhar do dossiê.
— Como a Jihan.
O medo dela era palpável. Conseguiu levantar um bocadinho o queixo antes de responder:
— Nunca conheci o senhor Khaddam.
— Mas o nome dele diz-lhe alguma coisa, certo?
Ela assentiu com a cabeça lentamente.
— E não nega ter sido você quem transferiu o dinheiro para essas contas.
— Estava só a fazer o que me mandaram.
— Quem, o senhor Al-Siddiqi?
Ficou calada. Gabriel voltou a colocar os documentos no dossiê e o dossiê em cima da mesinha. Yossi estava outra vez a fitar o teto. Navot olhava pelas portas duplas para um barco que ia a passar, como se desejasse poder ir a bordo.
— Parece que estou a perder a atenção do público — disse Gabriel, apontando com a mão para as duas figuras imóveis. — Já percebi que eles gostariam que eu fosse ao que interessa para podermos passar para assuntos mais importantes.
— E o que é que interessa? — perguntou Jihan, com mais calma do que Gabriel julgaria possível.
— Os meus amigos de Viena e Londres não estão interessados em acusar uma funcionária bancária de pouca monta. E, com toda a franqueza, eu também não. Queremos o homem que puxa os cordelinhos no Bank Weber, o homem que trabalha atrás de uma porta fechada à chave, protegido por dois guarda-costas armados.
Fez uma pausa e a seguir acrescentou:
— Queremos o senhor Al-Siddiqi.
— Lamento muito, mas não posso ajudá-los.
— Claro que pode.
— E tenho escolha?
— Todos nós fazemos escolhas na vida — respondeu Gabriel. — Infelizmente, a Jihan decidiu ir trabalhar para o banco mais desonesto da Áustria.
— Não sabia que era desonesto.
— Prove-o.
— Como?
— Dizendo-nos tudo o que sabe do senhor Al-Siddiqi. E dando-nos uma lista completa de todos os clientes do Bank Weber, do dinheiro que lá foi depositado para que o gerissem e da localização dos vários instrumentos financeiros em que esse dinheiro está investido.
— Isso é impossível.
— Porquê?
— Porque seria uma violação das leis bancárias austríacas.
Gabriel pousou a mão no ombro de Navot.
— Este homem trabalha para o governo austríaco. E se ele diz que não é uma violação da lei austríaca, então não é.
Jihan hesitou.
— Há mais uma razão para eu não vos poder ajudar — disse por fim. — Não tenho acesso completo aos nomes de todos os titulares de contas.
— Não é a gestora de conta do banco?
— Claro que sim.
— E a função da gestora de conta não é gerir as contas?
— Evidentemente que é — respondeu ela, franzindo o sobrolho.
— Então qual é o problema?
— O senhor Al-Siddiqi.
— Então, se calhar, devíamos começar por aí, Jihan. — Gabriel pousou-lhe a mão no ombro delicadamente. — Pelo senhor Al-Siddiqi.
Instalaram-na no lugar de honra da sala de estar, com Dina, a falsa amiga, à esquerda e Gabriel, a autoridade anónima de Berlim em matéria fiscal, à direita. Uzi Navot ofereceu-lhe comida, que ela não quis, e chá, que aceitou. Serviu-lho ao estilo árabe, meio doce, num copo pequeno. Permitiu-se dar um pequeno gole, soprou ligeiramente à superfície e pousou o copo com cuidado na mesa à sua frente. A seguir, descreveu uma tarde de outono, em 2010, em que reparou num anúncio, numa publicação do ramo bancário, de oferta de emprego em Linz. Na altura, trabalhava embrenhada na sede de Hamburgo de um banco alemão importante e andava a explorar discretamente outras opções. Viajou para Linz na semana seguinte e foi entrevistada por Herr Weber. Depois atravessou o corredor, passando por dois guarda-costas, para uma reunião particular com o senhor Al-Siddiqi. Que a efetuou integralmente em árabe.
— E ele referiu o facto de também ser de origem síria? — perguntou Gabriel.
— Não foi preciso.
— Os sírios têm um sotaque característico?
Ela assentiu com a cabeça.
— Sobretudo quando vêm das montanhas de Djebel Ansari.
— Essas montanhas ficam no oeste da Síria? Perto do Mediterrâneo?
— Exato.
— E as pessoas que lá vivem são na sua maioria alauitas, não é assim?
Ela hesitou e, a seguir, assentiu com a cabeça lentamente.
— Peço desculpa, Jihan, mas sou meio novato no que toca aos assuntos do Médio Oriente.
— Como a maioria dos alemães.
Aceitou a repreensão dela com um sorriso conciliatório e depois retomou as perguntas.
— E ficou com a sensação de que o senhor Al-Siddiqi era alauita? — indagou.
— Era óbvio.
— E a Jihan é alauita?
— Não — respondeu ela —, não sou alauita.
Não forneceu mais nenhum pormenor autobiográfico e Gabriel também não o pediu.
— São os alauitas que mandam no seu país, não são?
— Sou uma cidadã alemã que vive na Áustria — respondeu ela.
— Permite-me que reformule a pergunta?
— Por favor.
— A família que manda na Síria é alauita, não é assim, Jihan?
— É.
— E os alauitas ocupam os cargos mais importantes no exército e nos serviços de segurança sírios.
Ela esboçou um sorriso.
— Se calhar, você não é assim tão novato quanto isso.
— Aprendo depressa.
— Obviamente.
— E o senhor Al-Siddiqi contou-lhe que era da família do presidente?
— Deu a entender, sim — respondeu ela.
— E isso preocupou-a?
— Foi antes da Primavera Árabe. — Fez uma pausa antes de acrescentar: — Antes da guerra.
— E os dois guarda-costas à porta do gabinete? — perguntou Gabriel. — De que modo os justificou ele?
— Disse-me que fora raptado em Beirute vários anos antes e que o tinham feito refém.
— E acreditou?
— Beirute é uma cidade perigosa.
— Já lá esteve?
— Nunca.
Gabriel examinou o dossiê de novo.
— O senhor Al-Siddiqi deve ter ficado muito impressionado consigo — disse passado um momento. — Ofereceu-lhe logo emprego, a ganhar o dobro do que ganhava no banco em Hamburgo.
— E como é que sabe isso?
— Estava na sua página do Facebook. Disse a toda a gente que estava ansiosa por começar de novo. Os seus colegas de Hamburgo organizaram-lhe uma festa de despedida num restaurante todo chique à beira-rio. Se quiser, posso mostrar-lhe as fotos.
— Não é necessário — retorquiu ela. — Lembro-me bem dessa noite.
— E quando chegou a Linz, o senhor Al-Siddiqi tinha um apartamento à sua espera, não foi? Estava completamente apetrechado: produtos de cama e mesa, pratos, panelas e tachos, até os eletrodomésticos.
— Fazia parte do meu pacote de remuneração.
Gabriel levantou os olhos do dossiê e franziu o sobrolho.
— E não achou estranho?
— Ele disse que queria que a minha transição fosse o mais indolor possível?
— A palavra que ele usou foi essa? Indolor?
— Sim.
— E o que pediu o senhor Al-Siddiqi em troca?
— Lealdade.
— Só isso?
— Não — respondeu ela. — Disse-me que eu nunca podia falar a ninguém dos assuntos do Bank Weber.
— E com boas razões.
Ela ficou calada.
— E quanto tempo demorou a perceber que o Bank Weber não era um banco privado normal, Jihan?
— Comecei a desconfiar logo bem cedo — respondeu ela. — Mas quando chegámos à primavera, já tinha praticamente a certeza.
— E o que aconteceu na primavera?
— Quinze rapazes de Daraa pintaram uns grafítis na parede de uma escola. E o senhor Al-Siddiqi começou a ficar muito nervoso.
Durante os seis meses seguintes, explicou, ele andou sempre de um lado para o outro — Londres, Bruxelas, Genebra, Dubai, Hong Kong, Argentina, às vezes tudo na mesma semana. O aspeto dele começou a deteriorar-se. Emagreceu; ficou com círculos negros debaixo dos olhos. As preocupações com a segurança aumentaram exponencialmente. Quando estava no gabinete, o que era raro, a televisão estava sempre a transmitir a Al Jazeera.
— Andava a acompanhar a guerra? — perguntou Gabriel.
— Obsessivamente — respondeu Jihan.
— E tinha preferências?
— O que acha?
Gabriel não respondeu. Jihan bebericou o chá pensativamente antes de desenvolver o tema.
— Estava furioso com os americanos por terem apelado para o presidente sírio para se afastar — disse por fim. — Disse que aquilo era igualzinho ao Egito. Disse que iam lamentar o dia em que permitissem que ele fosse afastado.
— Porque a Al-Qaeda ia tomar conta da Síria?
— Sim.
— E a Jihan? Escolheu algum lado na guerra?
Ela ficou calada.
— Com certeza que o senhor Al-Siddiqi deve ter tido curiosidade em saber a sua opinião.
Outro silêncio. Deu uma olhadela nervosa à sala, às paredes, ao teto. Era a doença síria, pensou Gabriel. O medo nunca os largava.
— Aqui está em segurança, Jihan — disse Gabriel baixinho. — Está entre amigos.
— Estou?
Olhou para as caras que a rodeavam. O cliente que não era cliente. A vizinha que não era vizinha. Os três funcionários do fisco que não eram funcionários do fisco.
— Uma pessoa não exprime o que verdadeiramente acha à frente de um homem como o senhor Al-Siddiqi — disse passado um momento. — Sobretudo se essa pessoa tiver família que ainda vive na Síria.
— Tinha medo dele?
— E com boas razões.
— E por isso disse-lhe que tinha a mesma opinião que ele acerca da guerra.
Ela hesitou, antes de acabar por assentir com a cabeça, lentamente.
— E tem, Jihan?
— A mesma opinião que ele?
— Sim.
Outra hesitação. Outra olhadela nervosa à sala. Por fim, disse:
— Não, não tenho a mesma opinião que o senhor Al-Siddiqi acerca da guerra.
— Apoia os rebeldes?
— Apoio a liberdade.
— É jihadista?
Ergueu o braço despido e retorquiu:
— Pareço-lhe jihadista?
— Não — respondeu Gabriel, sorrindo perante a demonstração. — Parece-me uma mulher perfeitamente moderna e ocidentalizada que considera sem dúvida que a conduta do regime sírio é repugnante.
— E considero.
— Então porque continuou ao serviço de um homem que apoia um regime que anda a assassinar os próprios cidadãos?
— Às vezes, também pergunto a mim mesma a mesma coisa.
— O senhor Al-Siddiqi fez pressão para que ficasse?
— Não.
— Então, se calhar, ficou por causa do dinheiro. Afinal de contas, estava a pagar-lhe o dobro do que ganhava no emprego anterior.
Gabriel fez uma pausa e inclinou a cabeça para o lado pensativamente.
— Ou, se calhar, ficou por outra razão, Jihan. Se calhar, ficou por ter curiosidade em saber o que se estava a passar atrás daquela porta fechada à chave e daquele escudo formado pelos guarda-costas. Se calhar, tinha curiosidade em saber por que razão o senhor Al-Siddiqi andava a viajar tanto e a emagrecer tanto.
Ela hesitou e depois disse:
— Se calhar, até tinha.
— E sabe o que o senhor Al-Siddiqi anda a fazer?
— Anda a gerir o dinheiro de um cliente muito especial.
— E sabe o nome desse cliente?
— Sei.
— E como descobriu?
— Por acidente.
— Que tipo de acidente?
— Esqueci-me da carteira no trabalho uma noite — respondeu. — E quando voltei lá para a ir buscar, ouvi uma coisa que não devia ter ouvido.
Mais tarde, sempre que Jihan pensava nesse dia, recordava-o como a Sexta-Feira Negra. Os receios de um colapso grego tinham feito os preços das ações descer a pique na Europa e na América, e, na Suíça, o Ministério da Economia anunciou que iria congelar 200 milhões de dólares de ativos ligados à família do presidente sírio e aos seus comparsas. O senhor Al-Siddiqi pareceu arrasado com essa notícia. Barricou-se no gabinete durante a maior parte da tarde, só saindo de lá duas vezes para gritar com Jihan por causa de assuntos triviais. Ela passou a última hora desse dia de trabalho a olhar para o relógio e, ao bater das cinco, saiu a correr porta fora sem desejar um bom fim de semana ao senhor Al-Siddiqi nem a Herr Weber, como costumava fazer. Foi só mais tarde, quando já se estava a vestir para ir jantar, que deu conta de ter deixado a carteira no trabalho.
— E como entrou no banco? — perguntou Gabriel.
— Com as minhas chaves, claro.
— Não sabia que as tinha.
Tirou-as da carteira e mostrou-as a Gabriel.
— Conforme sabe — disse —, o Bank Weber não é um banco de retalho. Somos um banco privado, o que quer dizer que somos primordialmente uma empresa de gestão de riqueza vocacionada para indivíduos com grandes ativos líquidos.
— E têm dinheiro disponível?
— Pouco.
— E o banco fornece cofres aos clientes?
— Claro.
— E onde estão?
— Abaixo do nível da rua.
— E tem acesso a eles?
— Sou a gestora de conta.
— E?
— Posso entrar em qualquer sítio do banco, com exceção dos gabinetes do senhor Weber e do senhor Al-Siddiqi.
— São de acesso proibido?
— A não ser que me convidem a lá entrar.
Gabriel fez uma pausa, como que para digerir a informação, e depois pediu a Jihan para retomar o relato do que aconteceu na Sexta-Feira Negra. Explicou que tinha voltado para o banco de carro e entrara pela porta da frente servindo-se das chaves. Assim que a porta se abrisse, teria trinta segundos para digitar o código de oito números correto no painel de comando do sistema de segurança; caso contrário, o alarme tocaria e metade da polícia de Linz chegaria lá em poucos minutos. Mas quando se aproximou do painel, viu que o sistema de alarme não tinha sido ativado.
— O que queria dizer que havia mais alguém no banco?
— Correto.
— E era o senhor Al-Siddiqi?
— Estava no gabinete — respondeu ela, assentindo com a cabeça lentamente. — A falar ao telefone.
— Com quem?
— Com uma pessoa que não estava contente por ter acabado de ver os respetivos ativos serem congelados pelo governo suíço.
— E sabe quem era?
— Não — respondeu ela. — Mas desconfio que fosse alguém poderoso.
— E porque diz isso?
— Porque o senhor Al-Siddiqi parecia assustado. — Calou-se durante um momento. — Foi um choque bastante grande. Não é coisa de que me vá esquecer.
— E os guarda-costas estavam lá?
— Não.
— Porquê?
— Imagino que ele os tenha dispensado.
Perguntou o que ela fez a seguir. E a resposta foi que tinha ido buscar a carteira e saíra do banco o mais depressa possível. Na segunda-feira de manhã, quando voltou ao trabalho depois do fim de semana, tinha um bilhete à espera dela na secretária. Era do senhor Al-Siddiqi. Queria dar-lhe uma palavrinha a sós.
— E porque queria ele falar consigo?
— Disse que me queria pedir desculpa. — Sorriu inesperadamente. — Outra novidade.
— Pedir desculpa pelo quê?
— Por se ter irritado comigo na sexta-feira. O que era mentira, claro — acrescentou rapidamente. — Queria perceber se eu tinha ouvido alguma coisa quando fui ao banco nessa noite.
— Ele sabia que a Jihan tinha lá estado? — Ela assentiu com a cabeça. — Como?
— Ele fiscaliza frequentemente as gravações das câmaras de vigilância. Aliás, recebe as transmissões diretamente no computador que tem na secretária.
— E perguntou-lhe sem rodeios o que tinha ouvido?
— O senhor Al-Siddiqi nunca faz nada sem rodeios. Prefere andar às voltinhas.
— E o que lhe respondeu?
— O suficiente para o descansar.
— E ele acreditou?
— Sim — respondeu ela depois de pensar um momento. — Acho que sim.
— E a conversa ficou por aí?
— Não — retorquiu. — Queria falar da guerra.
— Do quê da guerra?
— Perguntou-me se a minha família que ainda estava na Síria se encontrava bem. Queria saber se podia fazer alguma coisa para os ajudar.
— E estava a ser sincero?
— Quando um parente da família do presidente se oferece para ajudar, normalmente quer dizer o contrário.
— Estava a ameaçá-la? — Jihan ficou calada. — E, mesmo assim, não se foi embora — disse Gabriel.
— Não — retorquiu —, não fui.
— E a sua família? — perguntou ele, voltando a consultar o dossiê. — Estão todos bem, Jihan?
— Houve vários que foram mortos ou ficaram feridos.
— Lamento muito saber isso. — Ela assentiu com a cabeça, mas não disse nada. — E onde os mataram?
— Em Damasco.
— E a Jihan é de lá?
— Vivi lá pouco tempo quando era criança.
— Mas não nasceu lá?
— Não — respondeu ela. — Nasci a norte de Damasco.
— Onde?
— Em Hama — respondeu. — Nasci em Hama.
Instalou-se na sala um silêncio, pesado e agoirento, como o silêncio que cai com força depois de um atentado à bomba suicida num mercado apinhado de gente. Bella entrou sem se apresentar e sentou-se numa cadeira vaga, defronte de Jihan. Ficaram as duas a olhar uma para a outra, como se só elas soubessem um segredo terrível, enquanto Gabriel folheava o dossiê distraidamente. Quando voltou por fim a falar, adotou um tom de distanciamento clínico, como um médico a fazer um exame físico de rotina a uma pessoa aparentemente saudável.
— Tem trinta e oito anos, Jihan? — perguntou.
— Trinta e nove — corrigiu-o ela. — Mas nunca lhe disseram que é uma grande falta de educação perguntar a idade a uma mulher?
O comentário provocou sorrisos tépidos na sala, que se esmoreceram quando Gabriel lhe fez nova pergunta.
— O que quer dizer que nasceu em…
A voz sumiu-se-lhe, como se estivesse a tentar fazer a conta.
Jihan indicou-lhe a data sem mais incitamento.
— Nasci em 1976 — disse.
— Em Hama?
— Sim — respondeu. — Em Hama.
Bella olhou para o marido, que estava a olhar para outro lado. Gabriel estava outra vez a folhear o dossiê, com a dedicação de um cobrador de impostos à matéria escrita.
— E quando se mudou para Damasco, Jihan? — perguntou.
— Foi no outono de 1982.
Gabriel olhou subitamente para cima e franziu o sobrolho.
— E porquê, Jihan? — perguntou. — Porque se foi embora de Hama no outono de 1982?
Ela retribuiu-lhe o olhar sem dizer nada. A seguir, olhou para Bella, a recém-chegada, a mulher sem função nem propósito aparentes, e respondeu.
— Fomos embora de Hama — explicou — porque, no outono de 1982, já não havia Hama. A cidade desapareceu. Foi varrida da face da terra.
— Houve conflitos em Hama entre o regime e a Irmandade Muçulmana?
— Não foram conflitos — respondeu. — Foi um massacre.
— E, por isso, a Jihan e a família mudaram-se para Damasco, certo?
— Não — respondeu. — Fui para lá sozinha.
— Porquê, Jihan? — perguntou ele, fechando o dossiê. — Porque foi para Damasco sozinha?
— Porque já não tinha família. Nem família, nem cidade.
Olhou para Bella novamente.
— Estava sozinha.
Para compreender o que aconteceu em Hama, prosseguiu Jihan, era preciso saber o que tinha acontecido antes. Em tempos, a cidade fora considerada a mais bela da Síria, célebre pelas graciosas noras de água no rio Orontes. E também era conhecida pelo fervor singular do islamismo sunita. As mulheres de Hama já usavam o véu muito antes de ser moda no resto do mundo muçulmano, sobretudo no bairro antigo de Barudi, onde a família Nawaz vivia num apartamento exíguo. Jihan era uma de cinco crianças, a mais nova e a única rapariga. O pai não recebera educação formal e fazia biscates no velho souk do outro lado do rio. Acima de tudo, estudava o Alcorão e protestava contra o ditador sírio, que considerava ser um herege e camponês sem direito a governar os sunitas. O pai não era membro de pleno direito da Irmandade Muçulmana, mas apoiava o objetivo da Irmandade de transformar a Síria num Estado islâmico. Por duas vezes, foi preso e torturado pela Mukhabarat, e, por uma, obrigado a dançar na rua enquanto tecia loas ao presidente e à família.
— Foi o maior dos insultos — explicou Jihan. — Sendo um devoto muçulmano sunita, o meu pai não ouvia música. E nunca dançava.
As recordações que tinha das sublevações que haviam levado ao massacre eram, no mínimo, ténues. Lembrava-se de alguns dos maiores ataques terroristas à bomba da Irmandade — em particular, de um ataque em Damasco que matou sessenta e quatro inocentes — e recordava-se dos cadáveres cravejados de balas nas ruelas de Barudi, vítimas de execuções sumárias levadas a cabo por agentes da Mukhabarat. Mas, tal como grande parte da população de Hama, não previu a calamidade que estava prestes a desabar sobre a linda cidade nas margens do Orontes. Foi então que, numa noite húmida e fria, no início de fevereiro, se espalhou a notícia de que unidades das Companhias de Defesa tinham entrado na cidade discretamente. Tentaram realizar a primeira investida em Barudi, mas a Irmandade estava à espera. Muitos dos homens do regime foram abatidos numa saraivada de tiros. A seguir, por toda a cidade, a Irmandade e os apoiantes lançaram uma série de ataques assassinos contra membros do Partido Baath e da Mukhabarat. Dos minaretes veio a mesma e única exortação: «Revoltem-se e expulsem os infiéis de Hama!» Começara a batalha pela cidade.
Mas, afinal de contas, os êxitos iniciais da Irmandade desencadeariam a fúria do regime como nunca antes tinha acontecido. Durante as três semanas seguintes, o exército sírio utilizou tanques, helicópteros de ataque e artilharia para transformar Hama num monte de escombros. E quando terminou a fase militar da operação, os especialistas em demolição sírios dinamitaram todos os edifícios que ainda se encontrassem de pé e passaram por cima dos escombros com rolos compressores. Os que conseguiram sobreviver a esse ataque devastador foram reunidos e enfiados em centros de detenção. Qualquer pessoa suspeita de ter ligações à Irmandade era brutalmente torturada e morta. Os cadáveres foram enterrados em valas comuns, pavimentadas com asfalto.
— Hoje em dia, andar nas ruas de Hama — disse Jihan — é andar por cima dos ossos dos mortos.
— Mas a Jihan sobreviveu — retorquiu Gabriel em voz baixa.
— Sim — respondeu ela —, sobrevivi.
Uma lágrima escorreu-lhe pela face, deixando um rasto que se prolongava até ao queixo. Era a primeira. Limpou-a abruptamente, como se tivesse medo de mostrar as emoções diante de desconhecidos, e depois alisou a bainha do vestido de alças.
— E a sua família? — perguntou Gabriel, interrompendo-lhe o silêncio. — O que lhes aconteceu?
— O meu pai e os meus irmãos foram mortos nos conflitos.
— E a sua mãe?
— Foi morta passados uns dias. Tinha dado à luz quatro inimigos do regime. Não podiam deixá-la ficar viva.
Escapou-se-lhe do olho outra lágrima. Desta vez, ignorou-a.
— E à Jihan? O que lhe aconteceu?
— Mandaram-me para um campo, tal como às outras crianças de Hama. Ficava algures no deserto, não sei bem onde. Passados uns meses, a Mukhabarat deixou-me ir viver para Damasco com um primo afastado. Nunca gostou muito de mim, e por isso despachou-me para a Alemanha, para ir viver com o irmão.
— Em Hamburgo?
Ela assentiu com a cabeça lentamente.
— Vivíamos na Marienstrasse. No número cinquenta e sete. — Fez uma pausa e, a seguir, perguntou: — Já ouviu falar dessa rua? Marienstrasse?
Gabriel disse que não. Era mais uma mentira.
— Havia uns rapazes que viviam em frente, no número cinquenta e quatro. Rapazes muçulmanos. Árabes. Achava um dos rapazes bastante bonito. Era calado, intenso. Nunca me olhava nos olhos quando nos cruzávamos na rua por eu não usar o véu.
Foi olhando de uma cara para a outra.
— E sabem quem era afinal de contas esse rapaz? O Mohamed Atta.
Abanou a cabeça devagar.
— Era quase como se eu nunca tivesse saído de Barudi. Trocara um bairro da Irmandade Muçulmana por outro.
— Mas as questões políticas do Médio Oriente nunca lhe interessaram?
— Nunca — respondeu ela, abanando a cabeça resolutamente. — Tentei ao máximo ser uma boa rapariga alemã, mesmo que os alemães não gostassem muito de mim. Andei na escola, andei na universidade e depois arranjei emprego num banco alemão.
— E a seguir veio para Linz — disse Gabriel. — E começou a trabalhar para um homem da família das pessoas que mataram a sua.
Ela ficou calada.
— Porquê? — perguntou Gabriel. — Porque foi trabalhar para um homem como o Waleed al-Siddiqi?
— Não sei.
Olhou para as caras que a rodeavam. O cliente que não era cliente. A vizinha que não era vizinha. Os três funcionários do fisco que não eram funcionários do fisco.
— Mas ainda bem que o fiz.
Gabriel sorriu.
— Também acho.
Por essa altura, já a tarde estava no fim. Lá fora, o vento tinha parado e a superfície do lago parecia uma chapa de vidro fumado. De repente, Jihan ficou com um ar exausto; estava a olhar fixamente pelas portas duplas abertas, com os olhos vazios de um refugiado. Gabriel arrumou os dossiês sem fazer barulho e despiu o casaco do fato de burocrata. Atravessou o jardim com Jihan, na direção do barco a motor de madeira que se encontrava amarrado no final da doca comprida. Subiu a bordo primeiro e, pegando-lhe na mão, ajudou Jihan a subir para a zona dos bancos na popa. Ela enfiou os óculos de sol à estrela de cinema e sentou-se com todo o cuidado, como se lhe estivessem prestes a tirar uma fotografia. Gabriel ligou o motor, desamarrou as cordas e deixou-as à deriva. Afastou-se da doca lentamente, para não deixar esteira, e virou o barco para sul. O céu continuava limpo, mas os picos das montanhas no final do lago tinham prendido uns resquícios de uma nuvem que ia a passar. Os austríacos chamavam a essas montanhas Höllengebirge: as montanhas do Inferno.
— Dá muito boa conta de si num barco — disse Jihan para as costas dele.
— Costumava velejar de vez em vez quando era mais novo.
— Onde?
— No Báltico — respondeu. — Passava os meus verões lá quando era miúdo.
— Pois — retorquiu Jihan num tom distante. — E ouvi dizer que a Ingrid costumava passar os verões aqui no Attersee.
Estavam sozinhos no meio do lago. Gabriel desligou o motor e rodou a cadeira para ficar de frente para ela.
— Já sabe tudo sobre mim — disse ela —, mas eu não sei nada sobre si. Nem sequer o seu nome.
— É para sua proteção.
— Ou, se calhar, é para sua.
Levantou os óculos escuros para ele lhe poder ver os olhos. O sol do fim da tarde tornou-os mais claros.
— Sabe o que me vai acontecer se o senhor Al-Siddiqi descobrir que eu vos contei estas coisas?
— Mata-a — respondeu Gabriel secamente. — E é por isso que vamos garantir que nunca o saiba.
— Se calhar, já sabe.
Olhou para ele com ar sério durante um momento.
— Ou, se calhar, você trabalha para o senhor Al-Siddiqi. Se calhar, já estou morta.
— Tenho cara de quem trabalha para o senhor Al-Siddiqi?
— Não — admitiu ela. — Mas também não tem propriamente cara de cobrador de impostos alemão.
— As aparências enganam.
— E os cobradores de impostos alemães também.
Uma rajada de vento soprou pelo barco e provocou ondas na superfície do lago.
— Sente este cheiro? — perguntou Jihan. — O ar cheira a flores.
— Chamam-lhe Rosenwind.
— A sério?
Ele assentiu com a cabeça. Jihan fechou os olhos e inalou o aroma.
— A minha mãe punha sempre um bocadinho de óleo de rosas no pescoço e na bainha do hijab. Quando os sírios estavam a bombardear Hama, agarrava-me com força para eu não ter medo. Eu costumava encostar a cara ao pescoço dela para poder sentir o cheiro a rosas em vez do fumo dos fogos.
Abriu os olhos e fitou Gabriel.
— Quem é você? — perguntou.
— Sou o homem que a vai ajudar a acabar o que começou.
— E o que quer isso dizer?
— Continuou no Bank Weber por uma razão, Jihan. Queria saber o que o senhor Al-Siddiqi andava a fazer. E agora sabe que ele tem andado a esconder dinheiro para o regime. Milhares de milhões de dólares que deviam ter sido gastos a educar e a cuidar do povo sírio. Milhares de milhões de dólares que agora se encontram numa rede de contas bancárias espalhadas pelo mundo.
— E o que pretende fazer em relação a isso?
— Vou transformá-los outra vez em camponeses das montanhas de Djebel Ansari.
Fez uma pausa e depois acrescentou:
— E a Jihan vai ajudar-me.
— Não posso.
— Porquê?
— Porque não consigo aceder às informações que procura.
— Onde é que elas estão?
— Algumas estão no computador que está no gabinete do senhor Al-Siddiqi. É muito seguro.
— A segurança informática é um mito, Jihan.
— E é por isso que não é aí que ele guarda as informações verdadeiramente importantes. Sabe perfeitamente que não as pode confiar a aparelhos eletrónicos.
— Está a dizer-me que está tudo na cabeça dele?
— Não — respondeu ela. — Está aqui.
Pousou a mão em cima do coração.
— Anda com elas?
— Num caderninho de notas encadernado em pele — respondeu ela, assentindo com a cabeça. — Está no bolso do peito do casaco ou então na pasta, mas ele nunca se afasta dele.
— E o que tem o caderno?
— Uma lista com números de conta, instituições e balanços atualizados. Muito simples. Muito claro.
— Já o viu?
Ela assentiu com a cabeça.
— Um dia, tinha-o em cima da secretária quando me chamou ao gabinete. Está escrito à mão. As contas que foram extintas ou alteradas aparecem com um risco por cima.
— E há mais exemplares? — Jihan abanou a cabeça. — Tem a certeza?
— Absoluta — respondeu. — Só tem um exemplar, para ficar a saber se alguém lhe chegou.
— E se ele desconfiar que alguém o viu?
— Imagino que tenha maneira de encerrar as contas.
Uma brisa ligeira fez parecer que tinham pousado um ramo de rosas no meio dos dois. Ela voltou a pôr os óculos e passou a ponta do dedo pela superfície da água.
— E há outro problema — disse passado um momento. — Se desaparecerem ativos sírios no valor de vários milhares de milhões de dólares, o senhor Al-Siddiqi e os amigos de Damasco vão pôr-se à procura deles.
Fez uma pausa e a seguir acrescentou:
— O que quer dizer que também vai ter de me fazer desaparecer.
Tirou a mão da água e olhou para Gabriel.
— Consegue fazer isso?
— Num piscar de olhos.
— E vou estar a salvo?
— Sim, Jihan. Vai estar a salvo.
— E onde vou viver?
— Onde quer que queira, dentro dos limites da razoabilidade, claro.
— Gosto disto aqui — disse ela, olhando para as montanhas à volta. — Mas é capaz de ser demasiado perto de Linz.
— Então arranjamos-lhe um sítio parecido.
— Vou precisar de uma casa. E de algum dinheiro. Não muito — acrescentou rapidamente. — Só o suficiente para viver.
— Algo me diz que o dinheiro não vai ser um problema.
— Mas que não seja o dinheiro do presidente. — Voltou a mergulhar a ponta do dedo no lago. — Está cheio de sangue.
Parecia estar a escrever qualquer coisa na superfície da água. Gabriel sentiu-se tentado a perguntar-lhe o que era, mas deixou-a em paz. Um resquício de uma nuvem tinha-se soltado das montanhas do Inferno. Pairou sobre a cabeça deles e parecia estar tão perto que Gabriel teve de resistir ao impulso de se esticar para agarrar nela.
— Nunca me explicou como me encontraram — disse Jihan subitamente.
— Não ia acreditar se eu lhe contasse.
— E é uma história boa?
— Espero que sim.
— Talvez a Ingrid a escreva em vez da história em que anda a trabalhar agora. Nunca gostei de histórias sobre Viena durante a guerra. São demasiado parecidas com Hama.
Levantou os olhos da água e fixou-os em Gabriel.
— Alguma vez me vai dizer quem é?
— Quando tudo terminar.
— Está a dizer-me a verdade?
— Sim, Jihan. Estou a dizer-lhe a verdade.
— Diga-me como se chama — insistiu. — Diga-me agora e eu escrevo o nome no lago. E, quando desaparecer, esqueço-me dele.
— Lamento muito, mas a coisa não funciona assim.
— E deixa-me ao menos pilotar o barco até casa?
— Sabe fazer isso?
— Não.
— Venha cá — disse ele. — Eu mostro-lhe.
Ela ficou na villa junto ao Attersee até já bem depois de escurecer; a seguir, acompanhada por Dina, regressou a Linz no Volvo inconstante. Passou grande parte da viagem a tentar descobrir o nome e a organização a que pertencia o homem que ia roubar a fortuna adquirida ilegalmente pela família do presidente sírio, mas Dina não lhe deu saída. Falou apenas da festa a que não tinham ido, de um jovem e atraente arquiteto que parecia ter gostado especialmente de Jihan e do cheiro sedutor a rosas que chegara com o vento noturno. Quando atingiram os arredores da cidade, até Jihan parecia já ter expurgado temporariamente da cabeça os acontecimentos daquela tarde. Achas mesmo que ele me vai ligar?, perguntou a propósito do arquiteto imaginário de Dina. Sim, respondeu Dina, com a culpa a pesar-lhe uma vez mais sobre os ombros. Acho que vai.
Passavam poucos minutos da meia-noite quando viraram para a ruazinha sossegada onde viviam, perto da Innere Stadt. Despediram-se com beijos formais na cara e subiram para os respetivos apartamentos. Quando Dina entrou no dela, viu a silhueta de um homem de constituição forte sentado rigidamente à janela. Estava a espreitar por uma abertura nas persianas. No chão, aos pés dele, encontrava-se uma HK de 9 milímetros.
— Alguma coisa? — perguntou ela.
— Não — respondeu Christopher Keller. — Ninguém a seguiu.
— Queres que te faça café?
— Não é preciso.
— Queres comer alguma coisa?
— Trouxe comida.
— E quem te vai substituir?
— Para já, vou ser eu sozinho.
— Mas alguma vez vais ter de dormir.
— Sou do Regimento — respondeu Keller, fitando a escuridão. — Não preciso de dormir.
Mas como se poderiam apossar do caderno de notas durante o tempo suficiente para roubar o que lá se encontrava? E como fazê-lo de maneira que Waleed al-Siddiqi nunca desse conta de que lhe faltava o caderno? Foram essas as perguntas com que a equipa se debateu nas horas que se seguiram à saída de Jihan da casa segura no Attersee. A solução óbvia era o equivalente, na realidade do Departamento, a um roubo-relâmpago, mas Gabriel rejeitou imediatamente a proposta. Insistiu que a operação fosse conduzida sem derramamento de sangue e de maneira que não alertasse o clã sírio dirigente para o facto de haver algum problema com o dinheiro deles. E também não aceitou a sugestão pouco entusiasta de Yaakov de uma armadilha de sedução sexual. Ao que tudo indicava, o senhor Al-Siddiqi era um homem sem vícios pessoais, além do facto de gerir a fortuna pilhada por um assassino em massa.
Havia uma máxima do Departamento, concebida por Shamron e gravada em pedra, de que um problema simples às vezes tinha uma solução simples. E a solução para o problema deles, disse Gabriel, só tinha duas componentes. Tinham de forçar Waleed al-Siddiqi a meter-se num avião e tinham de o forçar a atravessar uma fronteira para um país amigo. E o que é mais, acrescentou, a equipa tinha de ser informada com antecedência de ambas as ocorrências.
O que explicava a razão de, na manhã seguinte muito cedo, e tendo dormido mal, se é que chegara a dormir, Gabriel se ter arrastado para o Audi alugado, abandonando a Áustria pelo mesmo caminho que tinha feito ao entrar. A Alemanha nunca lhe parecera tão bonita. A terra de cultivo verde da Baviera era o seu éden; Munique, com o pináculo da Torre Olímpica por cima da névoa de verão como um minarete, a sua Jerusalém. Deixou o carro no parque de estacionamento de longa duração do Aeroporto de Munique e apressou-se para apanhar o voo das dez e meia da British Airways para Londres. O passageiro do lado era um alcoólico matinal de Birmingham; e Gabriel, apenas há poucas horas afastado da presença de Jihan, era outra vez Jonathan Albright, da Markham Capital Advisers. Tinha vindo a Munique, explicou, para explorar a possibilidade de adquirir uma empresa tecnológica alemã. E, sim, acrescentou acanhadamente, prometia ser muitíssimo lucrativo.
Estava a chover em Londres, uma tempestade de vento escura que tinha posto o Aeroporto de Heathrow num estado de noite permanente. Gabriel passou rapidamente pela fiscalização de passaportes e seguiu os sinais amarelos até ao átrio das chegadas, onde o esperava Nigel Whitcombe, com um impermeável encharcado, lembrando um governador colonial num canto distante do Império.
— Senhor Baker — disse ele enquanto apertava frouxamente a mão de Gabriel. — Tão bom vê-lo de novo. Seja bem-vindo de regresso a Inglaterra.
Whitcombe tinha um Vauxhall Astra, que conduzia muito depressa e com uma habilidade indolente. Dirigiu-se para Londres pela M4. Depois, a pedido de Gabriel, deu umas voltas de contravigilância por Earl’s Court e West Kensington antes de, finalmente, seguir para uma casa num pátio em Maida Vale. Tinha uma porta da frente da cor da casca do limão e um tapete de boas-vindas que dizia ABENÇOADOS SEJAM TODOS OS QUE ENTRAM NESTA CASA. Graham Seymour estava sentado na biblioteca, com um tomo de Trollope aberto sobre os joelhos. Quando Gabriel entrou sozinho, o chefe do MI6 fechou vagarosamente o livro e, levantando-se, voltou a pô-lo no devido lugar na prateleira.
— O que se passa agora? — perguntou.
— Dinheiro — respondeu Gabriel.
— De quem?
— Do povo sírio. Mas, por agora — acrescentou Gabriel —, está nas mãos da Evil Incorporated.
Seymour ergueu uma sobrancelha baronial.
— Como descobriste? — perguntou.
— O Jack Bradshaw pôs-me no caminho certo. E uma mulher chamada Jihan disse-me como deitar a mão ao mapa do tesouro.
— E tu, presumo, tencionas desenterrá-lo. — Gabriel não disse nada. — O que precisas dos Serviços Secretos de Sua Majestade?
— Autorização para fazer uma operação em território britânico.
— Vai haver cadáveres?
— Não creio.
— E onde vai ser?
— Na Tate Modern, se ainda estiver disponível.
— Em mais algum sítio?
— No Aeroporto de Heathrow.
Seymour franziu o sobrolho.
— Se calhar, era melhor começares do princípio, Gabriel. E desta vez — acrescentou — era capaz de ser boa ideia contares-me tudo.
Fora Jack Bradshaw, o espião inglês caído em desgraça e que se tornara contrabandista de arte, quem inicialmente juntara Gabriel e Graham Seymour, por isso foi por Bradshaw que Gabriel começou o relato. Foi meticuloso, mas, por necessidade, muitíssimo editado. Por exemplo, Gabriel não referiu o nome do ladrão de arte que lhe dissera que o Caravaggio há muito desaparecido tinha sido vendido recentemente. Nem identificou o mestre falsificador de arte que encontrara morto no estúdio em Paris, nem os ladrões que tinham arrancado os Girassóis do Rijksmuseum Vincent van Gogh, em Amesterdão, nem o nome do agente secreto da polícia suíça que lhe tinha dado acesso à galeria dos desaparecidos de Jack Bradshaw no Freeport de Genebra. Foi a carta encontrada no cofre de Bradshaw que levou Gabriel à LXR Investments e, finalmente, a um pequeno banco em Linz, embora Gabriel se esquecesse de referir que o rasto tinha passado por uma sociedade de advogados pan-árabe sediada na Great Suffolk Street.
— Quem foi o tipo que pôs a tua falsificação de Van Gogh no mercado, em Paris?
— Pertencia ao Departamento.
— A sério? — perguntou Seymour desconfiado. — Porque o que correu foi que era inglês.
— E quem achas que lançou o boato, Graham?
— Vocês pensam mesmo em tudo, não é verdade? — Seymour continuava parado à frente da estante. — E o verdadeiro Van Gogh? — questionou. — Tencionas devolvê-lo, não é verdade?
— Mal deite a mão ao caderno de notas do Waleed al-Siddiqi.
— Ah, o caderno de notas.
Tirou um tomo de Greene e abriu-o com o indicador.
— Vamos supor que consegues aceder a essa lista de contas. E depois?
— Usa a imaginação, Graham.
— Roubá-la? É o que estás a sugerir?
— Roubar é uma palavra feia.
— E os teus serviços têm essa capacidade?
Gabriel esboçou um sorriso forçado.
— Depois de tudo o que fizemos juntos — disse —, espanta-me que faças sequer essa pergunta.
Seymour voltou a pôr o tomo de Greene no lugar original.
— Não me oponho a dar uma olhadela aos livros de contabilidade dos bancos uma vez ou outra — disse passados uns instantes —, mas não alinho em roubos. Afinal de contas, somos britânicos. Acreditamos em jogo limpo.
— Nós não podemos dar-nos a esse luxo.
— Não te armes em vítima, Gabriel. Não te fica bem.
Seymour tirou outro livro da prateleira, mas desta vez não se deu ao trabalho de abrir a capa.
— Há alguma coisa a incomodar-te, Graham?
— O dinheiro.
— O que tem o dinheiro?
— Há uma grande probabilidade de parte dele ser de instituições financeiras britânicas. E se várias centenas de milhões de libras desaparecessem repentinamente dos balancetes…
A voz dele sumiu-se, deixando o pensamento inacabado.
— Para começar, elas não deviam ter aceitado o dinheiro, Graham.
— De certeza que as contas foram abertas por um intermediário — contrapôs Seymour. — O que significa que os bancos não fazem ideia de quem é de facto o dinheiro.
— Não vai demorar muito para ficarem a saber.
— Se quiseres a minha ajuda, não. — Instalou-se silêncio entre os dois. Foi finalmente quebrado por Graham Seymour: — Sabes o que vai acontecer se alguma vez vier a lume que eu ajudei a roubar um banco britânico? — perguntou. — Vou parar a Leicester Square com um copo de papel na mão.
— Por isso, vamos fazê-lo discretamente, Graham, como costumamos fazer sempre.
— Desculpa, Gabriel, mas os bancos britânicos estão interditos.
— E as sucursais dos bancos britânicos em território estrangeiro?
— Continuam a ser bancos britânicos.
— E os bancos nos territórios britânicos ultramarinos?
— Interditos — repetiu Seymour.
Gabriel fingiu ponderar o assunto.
— Nesse caso, suponho que vou ter de passar sem a tua ajuda. — Levantou-se. — Lamento ter-te forçado a sair do gabinete, Graham. Diz ao Nigel que sou capaz de voltar para Heathrow sozinho.
Gabriel começou a dirigir-se para a porta.
— Estás a esquecer-te de uma coisa — disse Seymour. Gabriel voltou-se. — Para te parar, só preciso de dizer ao Waleed al-Siddiqi para queimar o caderno de notas.
— Eu sei — replicou Gabriel. — Mas também sei que nunca farias isso. A tua consciência não to ia permitir. E bem lá no fundo, queres tanto o dinheiro como eu.
— Se estiver depositado num banco britânico, não.
Gabriel olhou para o teto e contou mentalmente até cinco.
— Se o dinheiro estiver nas Ilhas Caimão, nas Bermudas ou noutro território britânico qualquer, fico com ele. Se estiver aqui, em Londres, fica em Londres.
— Combinado — aceitou Seymour.
— Desde que — acrescentou Gabriel rapidamente — o governo de Sua Majestade congele muito bem esses ativos.
— Teria de ser o primeiro-ministro a tomar uma decisão dessas.
— Então tenho a certeza de que o primeiro-ministro verá as coisas como eu.
Desta vez, foi Graham Seymour quem olhou para o teto, exasperado.
— Ainda não me disseste como tencionas conseguir o caderno de notas.
— Na verdade — disse Gabriel —, tu é que mo vais conseguir.
— Fico contente por termos esclarecido isso. Mas como vamos conseguir que o Al-Siddiqi venha ao Reino Unido?
— Vou convidá-lo para uma festa. Com alguma sorte — acrescentou Gabriel —, será a última a que ele vai.
— Então é melhor que seja das boas.
— A ideia é essa.
— E quem a vai dar?
— Um amigo meu da Rússia que não gosta de ditadores que roubam dinheiro.
— Nesse caso — disse Seymour, sorrindo pela primeira vez —, essa noite promete ficar para a história.
Um espião britânico caído em desgraça, um polícia italiano só com um olho, um mestre ladrão de arte, um assassino profissional da ilha da Córsega: era esse o invulgar grupo de personagens por quem o caso tinha passado até agora. E, por isso, era perfeitamente apropriado que a paragem seguinte na jornada improvável de Gabriel fosse o número 43 de Cheyne Walk, a casa londrina de Viktor Orlov. Orlov era um pouco como Julian Isherwood; tornava a vida mais interessante e, por causa disso, Gabriel adorava-o. Mas o afeto pelo russo estava enraizado em algo muito mais prático. Não fosse Orlov, Gabriel jazeria num campo de morte da época de Estaline, a leste de Moscovo. E Chiara jazeria ao lado dele.
Dizia-se que Viktor Orlov dividia as pessoas em duas categorias: as que estavam dispostas a serem usadas e as que eram demasiado estúpidas para perceberem que estavam a ser usadas. Alguns teriam acrescentado uma terceira: as que estavam dispostas a deixar que Viktor lhes roubasse o dinheiro. Não fazia segredo quanto a ser um predador e um magnata ladrão. Aliás, usava esses rótulos com orgulho, tal como os fatos italianos de dez mil dólares e as camisas às riscas, a sua imagem de marca, que eram feitas de propósito para ele por um homem em Hong Kong. A queda impressionante do comunismo soviético presenteara Orlov com a oportunidade de ganhar muito dinheiro num período de tempo muito curto e ele tinha-a agarrado. Orlov raramente pedia desculpa por qualquer coisa, e muito menos pela forma como se tornara rico. «Se tivesse nascido inglês, o dinheiro podia ter chegado à minha posse de forma limpa», disse uma vez a um entrevistador britânico, pouco depois de se ter instalado em Londres. «Mas nasci russo e ganhei uma fortuna russa.»
Criado em Moscovo durante os dias mais negros da Guerra Fria, Orlov tinha sido abençoado com uma facilidade natural para os números. Depois de ter completado os estudos secundários, estudou física no Instituto de Ótica e Mecânica de Precisão e depois desapareceu no programa de armas nucleares russo, onde trabalhou até ao dia em que a União Soviética soltou o último suspiro. Enquanto muitos dos colegas continuaram a trabalhar sem receber, Orlov renunciou rapidamente ao estatuto de membro do Partido Comunista e jurou que iria ser rico. Passados poucos anos, tinha conseguido uma fortuna considerável importando computadores, eletrodomésticos e outros produtos do Ocidente para o nascente mercado russo. Mais tarde, utilizou a fortuna para adquirir a maior empresa estatal russa de aço juntamente com a Ruzoil, o gigante petrolífero da Sibéria, a preços de saldo. Não tardou muito para que Viktor Orlov, um antigo físico ao serviço do governo, que outrora tivera de partilhar um apartamento com outras duas famílias soviéticas, fosse multibilionário e o homem mais rico da Rússia.
Mas na Rússia pós-soviética, uma terra sem lei e a transbordar de crime e corrupção, a fortuna de Orlov fez dele um homem com a cabeça a prémio. Sobreviveu a pelo menos três tentativas de assassínio e constava que tinha mandado matar vários homens em retaliação. Mas a maior ameaça para Orlov viria do homem que sucedeu a Boris Ieltsin como presidente da Rússia. Acreditava que Orlov e os outros oligarcas tinham roubado as maiores riquezas do país e tencionava voltar a roubá-las. Depois de se instalar no Kremlin, o novo presidente mandou chamar Orlov e exigiu-lhe duas coisas: a empresa de aço e a Ruzoil. «E não meta o nariz na política», acrescentara ameaçadoramente. «Caso contrário, arranco-lho.»
Orlov aceitou abrir mão dos interesses no setor do aço, mas não da Ruzoil. O presidente não achou graça. Ordenou imediatamente ao Ministério Público que iniciasse uma investigação de fraude e suborno e, passada uma semana, os delegados já tinham emitido um mandado de captura para Orlov. Confrontado com a perspetiva de uma longa e fria estada nos novos gulags, fugiu sensatamente para Londres, onde se tornou um dos maiores críticos do presidente russo. Durante vários anos, a Ruzoil permaneceu juridicamente congelada, fora do alcance tanto de Orlov como dos novos senhores do Kremlin. Finalmente, Orlov concordou em entregar a empresa, no que foi efetivamente o maior pagamento da História pelo resgate de um refém — 12 mil milhões de dólares em troca da libertação de três agentes do Departamento que tinham sido raptados. Por essa generosidade, Orlov recebeu um passaporte britânico e uma reunião muito privada com a rainha. Mais tarde, declarou que tinha sido o dia de que sentira mais orgulho em toda a vida.
Já tinham passado mais de cinco anos desde que Orlov fizera o acordo financeiro com o Kremlin e, no entanto, continuava no topo da lista de gente a abater dos russos. Por causa disso, deslocava-se por Londres numa limusina blindada e a casa em Cheyne Walk parecia-se um bocadinho com a embaixada de um país preparado para a guerra. As janelas eram à prova de bala e estacionado junto ao passeio estava um Range Rover preto cheio de guarda-costas, todos ex-membros do antigo regimento de Christopher Keller, os Serviço Aéreos Especiais. Prestaram pouca atenção a Gabriel quando ele chegou à hora marcada, quatro e meia, e, depois de passar pelo portão de ferro forjado, se postou à imponente porta da frente de Orlov. A campainha, quando premida, fez aparecer uma empregada de farda preta e branca muito engomada, que subiu com Gabriel um lance de escadas largas e elegantes até ao escritório de Orlov. Era uma réplica exata do gabinete privado da rainha no Palácio de Buckingham, excetuando a gigantesca parede de ecrãs de plasma atrás da secretária de Orlov. Normalmente, tremeluzia com dados financeiros de todos os cantos do mundo, mas naquela tarde era a crise na Ucrânia que prendia a atenção de Orlov. O exército russo tinha invadido a península da Crimeia e estava agora a ameaçar avançar sobre outras regiões da Ucrânia oriental. A Guerra Fria estava outra vez oficialmente em vigor, ou assim o decretavam os comentadores políticos. A lógica deles tinha apenas uma falha gritante. Para começar, na mente do presidente russo, a Guerra Fria nem sequer tinha acabado.
— Eu avisei que isto ia acontecer — disse Orlov passados uns instantes. — Avisei que o czar queria recuperar o seu império. Tornei muito claro que a Geórgia era apenas um aperitivo e que a Ucrânia, o cesto do pão da velha união, ia ser o prato principal. E agora está a desenrolar-se em direto na televisão. E o que fazem os europeus em relação a isso?
— Nada — respondeu Gabriel.
Orlov assentiu vagarosamente com a cabeça, os olhos presos no ecrã.
— E sabe por que razão os europeus não fazem nada enquanto o Exército Vermelho esmaga brutalmente mais outra nação independente?
— Dinheiro — respondeu Gabriel.
Orlov voltou a assentir com a cabeça.
— Também os avisei disso. Disse-lhes para não ficarem dependentes do comércio com a Rússia. Supliquei-lhes que não ficassem viciados no gás natural russo. Ninguém me ouviu, claro. E agora os europeus não conseguem arranjar coragem para impor sanções sérias ao czar porque iriam prejudicar demasiado as suas economias.
Abanou a cabeça lentamente.
— Isto tudo agonia-me.
Nesse preciso momento, o presidente russo avançou com determinação pelo ecrã, com uma mão rigidamente pendurada e a outra a oscilar como uma gadanha. A cara tinha ido mais uma vez à faca; os olhos estavam tão esticados que parecia um homem das repúblicas da Ásia Central. Poderia ter parecido uma figura cómica não fosse o sangue que tinha nas mãos, algum do qual pertencia a Gabriel.
— Segundo a última estimativa — estava a dizer Orlov, com os olhos cravados no velho inimigo —, ele valia cerca de cento e trinta mil milhões de dólares, o que o tornava o homem mais rico do mundo. Como acha que ele arranjou esse dinheiro todo? Afinal, passou a vida inteira na folha de pagamentos do Estado.
— Acho que o roubou.
— Acha mesmo?
Orlov virou as costas aos monitores de vídeo na parede e ficou de frente para Gabriel pela primeira vez. Era um homem de sessenta anos, pequeno e ágil, com uma cabeleira grisalha que tinha sido levada com muito jeito e gel a formar um penteado juvenil todo espetado. Por trás dos óculos sem aros, o olho esquerdo piscava nervosamente. Acontecia-lhe habitualmente quando Orlov falava do presidente russo.
— Sei, sem margem para dúvidas, que ele embolsou uma grande parte da Ruzoil depois de eu a ter entregado ao Kremlin para o tirar a si da Rússia. Valia cerca de doze mil milhões de dólares na altura. Uma gotinha de água no grande esquema das coisas — acrescentou Orlov. — O czar e o círculo mais chegado a ele estão a enriquecer imensamente à custa do povo russo. E é por isso que vai fazer tudo o que for preciso para se manter no poder. — Orlov fez uma pausa e depois acrescentou: — Tal como o amigo dele da Síria.
— Então porque não me ajuda a fazer qualquer coisa a esse respeito?
— Roubar o dinheiro do czar? Não há nada de que mais gostasse. Afinal — acrescentou Orlov —, uma parte até é minha. Mas não é possível.
— Concordo.
— Então o que está a sugerir?
— Que, em vez disso, roubemos o dinheiro do amigo sírio.
— Já o descobriu?
— Não — respondeu Gabriel —, mas sei quem o superintende.
— Que é o Kemel al-Farouk — retorquiu Orlov. — Mas o homem que está de facto a gerir a carteira de investimentos é o Waleed al-Siddiqi. — Gabriel ficou demasiado estupefacto para fazer qualquer comentário. Orlov sorriu. — Já devia ter vindo ter comigo há muito tempo. Podia ter-lhe poupado uma série de problemas.
— E como sabe do Al-Siddiqi?
— Porque o Gabriel não é a única pessoa à procura do dinheiro.
Orlov olhou por cima do ombro, para os monitores de vídeo, onde o presidente russo se encontrava agora a receber informações dos generais.
— O czar também o quer. Mas isso não tem nada de surpreendente — acrescentou. — O czar quer tudo.
Ao bater das cinco, a empregada apareceu com uma garrafa de Château Pétrus, o lendário Pomerol que Orlov bebia como se fosse Evian.
— Quer um copo, Gabriel?
— Não, obrigado, Viktor. Tenho de conduzir.
Orlov fez um gesto desdenhoso com a mão e verteu vários centímetros do vinho vermelho-escuro num grande copo de pé.
— Onde é que íamos? — perguntou.
— Ia contar-me como soube do Waleed al-Siddiqi.
— Tenho fontes em Moscovo. Fontes muito boas — acrescentou com um sorriso. — Julgava que nesta altura já soubesse isso.
— As suas fontes são as melhores, Viktor.
— Melhores do que as do MI6 — retorquiu Orlov. — Devia dizer ao seu amigo Graham Seymour para atender, de vez em quando, os meus telefonemas. Posso ser-lhe muito útil.
— Eu digo-lhe isso da próxima vez que o vir.
Orlov sentou-se na ponta de um comprido sofá de brocado e convidou Gabriel a sentar-se na outra. Do outro lado das janelas à prova de bala, o trânsito do início da noite fluía ao longo do Chelsea Embankment e pela Albert Bridge, até Battersea. No entanto, no mundo de Viktor Orlov existia apenas a figura levemente cómica a avançar com passadas largas pelos ecrãs da parede de monitores.
— Porque julga que ele se ergueu em defesa do presidente sírio quando o resto do mundo civilizado estava pronto a usar a força militar contra o tipo? Foi porque quis proteger o único amigo da Rússia no mundo árabe? Queria conservar a base naval em Tartus? A resposta às duas perguntas é: sim. Mas há outra razão. — Olhou para Gabriel e disse: — Dinheiro.
— Quanto?
— Quinhentos milhões de dólares, a pagar diretamente numa conta nas mãos do czar.
— Diz quem?
— Diz o prefiro não dizer.
— E de onde vieram os quinhentos milhões de dólares?
— De onde acha?
— Como já não havia nada no tesouro público sírio, diria que veio diretamente da algibeira do presidente.
Orlov assentiu com a cabeça e voltou a olhar para o ecrã.
— E o que pensa que o czar fez depois de ter recebido a confirmação de que o dinheiro tinha sido depositado na conta dele?
— Como o czar é um filho da mãe ganancioso, imagino que tenha mandado os antigos colegas do SVR, os serviços secretos no exterior, descobrir o resto.
— Conhece bem o czar.
— E tenho as cicatrizes para o provar.
Orlov sorriu e bebeu um pouco do vinho.
— As minhas fontes dizem que a busca foi comandada pelo rezident do SVR em Damasco. Ele já sabia do Kemel al-Farouk. Bastaram-lhe cinco minutos para descobrir o nome do Al-Siddiqi.
— E é o Al-Siddiqi quem supervisiona a fortuna toda?
— Nada que se pareça — respondeu Orlov. — Se tivesse de arriscar um palpite, diria que cerca de metade do dinheiro do presidente está sob a própria administração dele.
— Então do que está o czar à espera?
— Está à espera para ver se o presidente sobrevive ou se acaba como o Khadafi. Se sobreviver, fica com o dinheiro. Mas se acabar como o Khadafi, o SVR vai deitar a mão a essa lista de contas que o Al-Siddiqi traz no bolso.
— Vou chegar-lhe primeiro do que eles — disse Gabriel. — E o Viktor vai ajudar-me.
— O que precisa que eu faça ao certo? — Gabriel disse-lhe. Orlov girou os óculos pela haste, coisa que fazia sempre que estava a pensar em dinheiro. — Não vai ser barato — disse passados uns momentos.
— Quanto, Viktor?
— Trinta milhões, no mínimo dos mínimos. Talvez uns quarenta quando estiver tudo resolvido.
— E o que me diz se desta vez cada um pagar a sua parte?
— Quanto pode gastar?
— Sou capaz de ter uns dez milhões à mão — respondeu Gabriel. — Mas teria de lhos dar em dinheiro vivo.
— É verdadeiro?
— Evidentemente.
Orlov sorriu.
— Então em dinheiro vivo está muito bem.
Houve um debate animado sobre o que lhe chamar. Orlov exigiu que o nome dele ficasse associado ao empreendimento — o que não tinha nada de surpreendente pois estava a pagar a parte de leão das despesas. «O nome Orlov é símbolo de qualidade», explicou. «O nome Orlov é símbolo de êxito.» Era verdade, reconheceu Gabriel, mas também era símbolo de corrupção, desonestidade e rumores de violência, acusações que Orlov não se deu ao trabalho de negar. Por fim, decidiram-se por Iniciativa Empresarial Europeia: estoico, sólido e sem ponta de controvérsia. Orlov mostrou-se mesquinho na derrota. «Mais valia chamarmos-lhe doze horas de completo aborrecimento», resmungou baixinho. «Assim podemos ter a certeza de que ninguém se vai dar ao trabalho de aparecer.»
Anunciaram o empreendimento na segunda-feira seguinte, nas páginas do Financial Journal, o venerável diário de negócios londrino que Orlov tinha adquirido por uma bagatela poucos anos antes, quando estava à beira da insolvência. O objetivo apresentado para aquele encontro, disse ele, era juntar os cérebros mais brilhantes do mundo governamental, industrial e financeiro para produzir um conjunto de recomendações de planos de ação que iriam tirar a economia europeia da estagnação pós-recessão. A reação inicial foi, na melhor das hipóteses, tépida. Um comentador chamou-lhe a Loucura de Orlov. Outro, o Titanic de Orlov. «Com uma diferença importante», acrescentou. «Este navio vai ao fundo ainda antes de sair do porto.»
Houve ainda outros que minimizaram a conferência, considerando-a mais um dos truques publicitários na longa lista de Orlov, uma acusação que ele negou repetidamente durante um dia inteiro em que foi bombardeado com entrevistas nos canais de televisão de informação comercial. Depois, como que para provar que os críticos estavam enganados, embarcou numa discreta viagem às capitais europeias para angariar apoios para a iniciativa. A primeira paragem foi em Paris, onde, depois de uma sessão de negociação que mais pareceu uma maratona, o ministro das Finanças francês concordou em mandar uma delegação. A seguir, marchou para Berlim, onde conseguiu que os alemães se comprometessem a estar presentes. O resto do continente depressa os imitou. Os Países Baixos sucumbiram numa tarde, tal como a Escandinávia. Os espanhóis estavam tão desesperados para participar que Orlov nem sequer se deu ao trabalho de fazer a viagem até Madrid. E também não precisou de ir a Roma. De facto, o primeiro-ministro italiano disse que iria em pessoa — desde, claro, que ainda estivesse no governo nessa altura.
Tendo ganhado o compromisso dos governos europeus, Orlov foi atrás das estrelas do mundo empresarial e financeiro. Enrolou os titãs da indústria automóvel alemã e os gigantes da indústria fabril da Suécia e da Noruega. As grandes companhias de navegação queriam participar na brincadeira, tal como as grandes companhias de aço e de energia. Inicialmente, os bancos suíços mostraram-se relutantes, mas concordaram depois de Orlov lhes ter assegurado que não seriam crucificados pelos pecados anteriores. Até Martin Landesmann, o rei suíço dos fundos de investimento e responsável por boas ações no plano internacional, anunciou que iria arranjar tempo num calendário muito ocupado, embora implorasse a Orlov que dedicasse pelo menos uma parte do programa a questões que lhe eram caras, como as alterações climáticas, a dívida do Terceiro Mundo e a agricultura sustentável.
E foi assim que, passados poucos dias, a conferência que tinha sido inicialmente menosprezada como uma loucura era agora o assunto mais na berra no mundo empresarial. Orlov foi assediado com pedidos para convites. Eram os americanos, que perguntavam a si mesmos por que razão, logo para começar, não teriam sido convidados. Eram os modelos da moda, as estrelas rock e os atores que queriam conviver com os ricos e poderosos. Houve um antigo primeiro-ministro britânico, caído em desgraça por escândalos pessoais, que queria uma possibilidade de se redimir. Até houve um oligarca russo que mantinha laços desconfortavelmente apertados com os inimigos de Orlov no Kremlin. Deu a mesma resposta a todos. Os convites seriam emitidos por correio noturno no primeiro dia de julho. As respostas tinham de ser recebidas nas quarenta e oito horas seguintes. A imprensa seria autorizada a ter acesso aos comentários introdutórios de Orlov, mas todos os outros acontecimentos, incluindo o jantar de gala, estariam interditos aos meios de comunicação. «Queremos que os nossos participantes se sintam à vontade para exprimirem as suas opiniões», explicou Orlov. «E não o poderão fazer se a imprensa estiver suspensa de todas as palavras que disserem.»
Tudo isto parecia ter pouca importância na cidade austríaca encantada numa curva invulgarmente acentuada do rio Danúbio. Sim, o presidente da Voestalpine AG, o gigante do aço sediado em Linz, tinha sido sondado por Orlov em relação à participação na conferência de Londres, mas, fora isso, a vida continuou normalmente. Começaram e acabaram uns quantos festivais de verão, os cafés encheram-se e esvaziaram-se duas vezes por dia e, no pequeno banco privado perto da rotunda dos elétricos, uma filha de Hama continuou com a rotina diária como se não tivesse acontecido nada de invulgar. Devido ao seu telemóvel desprotegido, que funcionava agora a tempo inteiro como um transmissor, Gabriel e o resto da equipa puderam ouvir tudo o que fazia. Ouviram-na a abrir contas e a movimentar dinheiro. Ouviram as reuniões que tinha com Herr Weber e com o senhor Al-Siddiqi. E, a altas horas da noite, ouviram-na sonhar com Hama.
E também a ouviram a renovar a amizade com uma aspirante a romancista, recentemente divorciada e que vivia sozinha em Linz, chamada Ingrid Roth. Almoçavam juntas, iam às compras juntas, iam a museus juntas. E, em duas ocasiões, voltaram à bonita villa amarela na margem ocidental do Attersee, onde Jihan foi interrogada e preparada por um homem que fora levada a acreditar ser alemão. No final da primeira sessão, ele pediu-lhe uma descrição pormenorizada do gabinete do senhor Al-Siddiqi. E quando voltou para a segunda sessão, tinha sido criada uma réplica do gabinete numa das salas da villa. Era uma falsificação perfeita em todos os pormenores: a mesma secretária, o mesmo computador, o mesmo telefone e até a mesma câmara de vigilância no cimo da parede e o mesmo teclado numérico na porta.
— Para que é isto? — perguntou Jihan, surpreendida.
— Para treinar — respondeu-lhe Gabriel, com um sorriso.
E treinar foi o que fizeram durante três horas, sem uma única interrupção, até Jihan conseguir executar a missão sem mostrar qualquer traço de medo ou tensão. A seguir, fez tudo numa escuridão completa e com um alarme a tocar e Gabriel a gritar-lhe que os homens do senhor Al-Siddiqi estavam a chegar para a apanharem. Gabriel não disse a Jihan que o treino que estava a receber tinha sido criado pelos serviços secretos do Estado de Israel. Nem lhe referiu o facto de, em várias ocasiões, ele próprio ter suportado períodos de treino semelhantes. Na presença dela, nunca era Gabriel Allon. Era um aborrecido cobrador de impostos alemão sem nome que por acaso era muito bom no que fazia.
O logro infligido a Jihan parecia pesar cada vez mais na consciência de Gabriel à medida que o dia da operação se aproximava. Estava constantemente a recordar à equipa que os adversários iriam seguir as Regras de Hama — e, se calhar, também as Regras de Moscovo — e preocupava-se com os pormenores mais insignificantes. Conforme o estado de espírito dele piorava, Eli Lavon tomou a iniciativa de comprar um pequeno veleiro de madeira só para conseguir tirar Gabriel da casa segura durante umas horas à tarde. Velejava ao sabor do vento na direção das montanhas do Inferno e depois regressava seguindo destramente em ziguezague, tentando sempre melhorar o tempo do dia anterior. O cheiro do Rosenwind levava-o a pensar numa criança aterrorizada agarrada à mãe — e, às vezes, no aviso que a velha mística lhe sussurrara ao ouvido na ilha da Córsega.
Não deixes que lhe aconteça nada, senão perdes tudo…
Mas a sua obsessão principal durante aqueles últimos dias de junho era Waleed al-Siddiqi, o banqueiro de origem síria que ia para todo o lado com um caderno de notas encadernado em pele preta. Este viajou com frequência durante esse período e, como era hábito, com reservas feitas apenas com algumas horas de antecedência. Houve uma viagem de um dia a Bruxelas, um pequeno passeio de uma noite a Beirute e, por fim, uma visita rápida ao Dubai, onde passou muito tempo na sede do TransArabian Bank, uma instituição que o Departamento conhecia bem. Regressou a Viena à uma da tarde, no dia 1 de julho, e, às três, estava a entrar pela porta do Bank Weber AG, seguido, como de costume, pelos guarda-costas alauitas. Jihan recebeu-o cordialmente e entregou-lhe um maço de correio que chegara enquanto tinha estado fora. Incluía um envelope entregado pela DHL, dentro do qual estava um convite em papel acetinado para uma coisa qualquer chamada Iniciativa Empresarial Europeia. Levou-o sem o abrir para o gabinete e fechou a porta silenciosamente.
Era quarta-feira, o que queria dizer que tinha até às cinco da tarde de sexta-feira para entregar a resposta por correio eletrónico. Gabriel mentalizou-se para uma longa espera e, infelizmente, Waleed al-Siddiqi não o desiludiu. O resto da quarta-feira passou sem uma resposta, tal como a manhã e a tarde de quinta-feira. Eli Lavon encarava a demora como um sinal positivo. Queria dizer, explicou, que o banqueiro estava lisonjeado com o convite e estava a decidir se devia ou não estar presente. Mas Gabriel temia o contrário. Tinha investido fortemente em tempo e dinheiro para atrair o banqueiro sírio a Inglaterra. Melhorar a anémica economia da Europa era um empreendimento nobre, disse a Lavon, mas não era propriamente uma das suas prioridades cruciais.
Na sexta-feira de manhã, Gabriel estava a rebentar de preocupação. Telefonava para Viktor Orlov no início e no fim de cada hora. Passarinhava de um lado para o outro do salão. Resmungava para o teto na língua que no momento melhor se lhe adaptasse ao estado de espírito sempre instável. Por fim, às duas da tarde, abriu de rompante a porta da imitação do gabinete de Al-Siddiqi e gritou-lhe em árabe que se decidisse. Foi nessa altura que Eli Lavon interveio. Agarrou gentilmente no cotovelo de Gabriel e levou-o para o final da doca.
— Põe-te a andar — disse-lhe, apontando para a ponta mais distante do lago. — E não voltes nem um minuto antes das cinco.
Relutante, Gabriel entrou no veleiro e seguiu ao sabor do vento na direção das montanhas do Inferno, com as velas desfraldadas, seguido pelo cheiro intenso a rosas. Levou apenas uma hora a chegar à extremidade sul do lago; baixou as velas numa enseada abrigada e aqueceu-se ao sol, sempre a resistir ao impulso de pegar no telemóvel. Por fim, às três e meia, içou a vela grande e a vela de bujarrona e zarpou para norte. Chegou à cidade de Seeberg às dez para as cinco, guinou uma última vez para estibordo e ligou o motor para a travessia em linha reta até à casa segura no lado oposto do lago. Quando se aproximou, avistou a figura diminuta de Eli Lavon de pé na ponta da doca, com o braço erguido numa saudação silenciosa.
— E então? — perguntou Gabriel.
— Parece que o senhor Al-Siddiqi se sentiria honrado por assistir à Iniciativa Empresarial Europeia.
— Só isso?
— Não — respondeu Lavon, franzindo o sobrolho. — Também gostaria de ter uma conversa privada com Miss Nawaz.
— Sobre o quê?
— Vem para dentro — respondeu Lavon. — Já vamos ficar a saber daqui a nada.
Ela tinha pedido cinco minutos. Cinco minutos para fechar à chave o último dos dossiês das contas. Cinco minutos para arrumar a secretária já arrumada. Cinco minutos para fazer regressar o caótico bater do coração a qualquer coisa mais normal. O tempo que lhe fora concedido terminara. Levantou-se, um bocadinho mais abruptamente do que o habitual e alisou a parte da frente da saia. Ou estava a limpar a humidade das palmas das mãos? Examinou-a para se certificar de que não tinha deixado nenhum vestígio de humidade no tecido e depois olhou de relance para os guarda-costas parados à frente da porta do senhor Al-Siddiqi. Estavam a observá-la atentamente. Calculou que o senhor Al-Siddiqi também a estava a observar. Sorrindo, percorreu o corredor. Bateu à porta de forma falsamente decidida: três pancadas secas que lhe deixaram o nó do dedo a arder.
— Entre — foi tudo o que ele disse.
Olhou sempre em frente enquanto o guarda-costas à direita — o alto, que se chamava Yusuf — introduzia o código de acesso no teclado na parede. Os fechos de segurança abriram com um estalido e a porta cedeu silenciosamente ao toque dela. A sala onde entrou estava à meia-luz, iluminada apenas por um único candeeiro de halogéneo na secretária. Reparou que o candeeiro tinha sido ligeiramente deslocado, mas fora isso, a secretária estava arrumada da maneira habitual: o computador, à esquerda, o mata-borrão de cabedal, no centro, o telefone com multilinhas, à direita. Naquele momento, o auscultador estava encostado com força ao ouvido do senhor Al-Siddiqi. Trazia um fato cinzento-escuro, camisa branca e uma gravata escura que cintilava como granito polido. Os olhos pequenos estavam focados num ponto algures por cima da cabeça de Jihan; o dedo indicador estava contemplativamente encostado ao nariz. Tirou-o de lá o tempo suficiente para o apontar, tipo pistola, para uma cadeira vazia. Jihan sentou-se e ajeitou-se recatadamente. Deu conta de que ainda estava a sorrir. Olhando para baixo, pôs-se a ver os e-mails no telemóvel e esforçou-se para não se interrogar sobre quem estaria do outro lado da linha a falar com o senhor Al-Siddiqi.
Por fim, o sírio murmurou umas palavras em árabe e pousou o auscultador no descanso.
— Desculpe, Jihan — disse-lhe na mesma língua —, lamento, mas isto não podia esperar.
— Um problema?
— Nada além do habitual.
Juntou as mãos pensativamente debaixo do queixo e olhou para ela com uma expressão séria durante uns instantes.
— Queria falar-lhe de uma coisa — disse por fim. — É ao mesmo tempo pessoal e profissional. Espero que me permita que fale livremente.
— Há algum problema?
— Diga-me a Jihan.
Jihan sentiu a nuca a arder.
— Não percebo — respondeu calmamente.
— Posso fazer-lhe uma pergunta?
— Claro.
— É feliz aqui, em Linz?
Ela franziu as sobrancelhas.
— Porque me está a perguntar uma coisa dessas?
— Porque nem sempre me parece muito feliz. — A boca pequena e dura esboçou uma coisa parecida com um sorriso. — Parece-me uma pessoa muito séria, Jihan.
— E sou.
— E honesta? — perguntou ele. — Considera-se uma pessoa honesta?
— Muito.
— Nunca violaria a privacidade dos nossos clientes?
— Claro que não.
— E nunca discutiria os nossos negócios com alguém que não fosse do banco?
— Nunca.
— Nem com um familiar?
— Não.
— Nem com um amigo?
Ela abanou a cabeça.
— Tem a certeza, Jihan?
— Tenho, senhor Al-Siddiqi.
Ele olhou para a televisão. Como de costume, estava a transmitir a Al Jazeera. O som estava desligado.
— E quanto a lealdade? — perguntou passados uns instantes. — Considera-se uma pessoa leal?
— Muito.
— E a que é leal?
— Nunca pensei realmente nisso.
— Então pense agora, se faz favor.
Olhou para o ecrã do computador como se lhe quisesse dar uns instantes de privacidade.
— Suponho que sou leal a mim mesma — disse ela.
— Uma resposta interessante. — Os olhos escuros deslocaram-se do computador para a cara dela. — E de que maneira é leal a si mesma?
— Tento viver segundo um determinado código.
— Como por exemplo?
— Nunca tentaria magoar uma pessoa intencionalmente.
— Mesmo que ela a magoasse a si?
— Sim — respondeu. — Mesmo que ela me magoasse.
— E se a Jihan desconfiasse que uma pessoa tinha feito qualquer coisa errada? Tentaria magoá-la nesse caso?
Ela conseguiu sorrir contra vontade.
— Isto é a parte pessoal ou a parte profissional daquilo que me queria falar? — perguntou.
A pergunta pareceu desconcertá-lo. Desviou o olhar para a televisão.
— E em relação ao seu país? — perguntou. — É leal ao seu país?
— Gosto muito da Alemanha — respondeu ela.
— Tem passaporte alemão e fala a língua como uma alemã, Jihan, mas não é alemã. É síria.
Fez uma pausa e depois acrescentou:
— Como eu.
— Foi por isso que me contratou?
— Contratei-a — respondeu ele de modo incisivo — porque precisava de uma pessoa com a sua capacidade linguística para me ajudar a trabalhar aqui na Áustria. Tem-se mostrado muitíssimo valiosa para mim, Jihan, e é por isso que estou a pensar em criar um novo cargo para si.
— Que tipo de cargo?
— Ficaria a trabalhar diretamente comigo.
— E a fazer o quê?
— Seja o que for que eu precise.
— Não sou secretária, senhor Al-Siddiqi.
— Nem eu a trataria como tal. Iria ajudar-me a gerir as carteiras de investimentos dos meus clientes.
Olhou-a atentamente, como se quisesse ler-lhe os pensamentos.
— Isso interessar-lhe-ia?
— E quem iria ser a gestora de conta?
— Uma pessoa nova.
Ela baixou a cabeça e deu a resposta para as mãos:
— Sinto-me muito lisonjeada por pensar em mim para esse cargo, senhor Al-Siddiqi.
— Não parece tremendamente entusiasmada com a ideia. De facto, Jihan, parece muito pouco à vontade.
— De maneira nenhuma — respondeu ela. — Estou só a questionar-me por que razão o senhor iria querer uma pessoa como eu para um cargo tão importante.
— E porque não você? — contrapôs ele.
— Não tenho experiência de gestão de ativos.
— Tem uma coisa muitíssimo mais valiosa do que a experiência.
— O quê, senhor Al-Siddiqi?
— Lealdade e honestidade, as duas qualidades que mais valorizo num empregado. Preciso de uma pessoa em quem possa confiar.
Fez um V invertido juntando as pontas dos dedos delgados e apoiou-o na ponta do nariz.
— Posso confiar em si, não posso, Jihan?
— Claro que sim, senhor Al-Siddiqi.
— Isso quer dizer que está interessada?
— Muito — respondeu ela. — Mas gostava de ter um dia ou dois para pensar nisso.
— Lamento, mas não posso esperar esse tempo todo por uma resposta.
— Quanto tempo tenho?
— Diria que tem uns dez segundos.
Voltou a sorrir. Parecia que ensinara a expressão a si próprio praticando-a à frente de um espelho.
— E se eu disser que sim? — perguntou Jihan.
— Vou precisar de verificar os seus antecedentes antes de continuar.
Calou-se por uns instantes.
— Não teria problemas com isso, pois não?
— Parti do princípio de que tinha passado por uma verificação de antecedentes antes de o senhor me ter contratado.
— E passou.
— Então, porque tem de haver mais uma?
— Porque esta vai ser diferente.
Fez aquilo soar como se fosse uma ameaça. E, se calhar, até era.
Na sala de estar da casa segura no Attersee, Gabriel tinha adotado involuntariamente a mesma pose de Waleed al-Siddiqi: pontas dos dedos a premir a ponta do nariz, olhos fixos em frente. Estavam fixos não em Jihan Nawaz, mas no computador que emitia o som da voz dela. Eli Lavon estava sentado ao lado dele, a roer qualquer coisa do lado de dentro da bochecha. E, sentado ao lado de Lavon, estava Yaakov Rossman, a pessoa da equipa que melhor falava árabe. Como de costume, Yaakov parecia estar a pensar num ato de violência.
— Pode ser uma coincidência — disse Lavon sem convicção.
— Pode ser — repetiu Gabriel. — Ou é possível que o senhor Al-Siddiqi não goste da companhia com quem Jihan tem andado.
— Ter uma amiga não é contra as regras.
— A não ser que essa amiga trabalhe para os serviços secretos do Estado de Israel. Nesse caso, desconfio que ele ia ter problemas com isso.
— E porque havia ele de supor que a Dina é israelita?
— Ele é sírio, Eli. Supõe sempre automaticamente o pior.
Do computador veio o barulho de Jihan a sair do gabinete do senhor Al-Siddiqi e a voltar para a secretária. Gabriel posicionou a barra do leitor de áudio nos 5m09s e carregou no play.
— Considera-se uma pessoa honesta?
— Muito.
— Nunca violaria a privacidade dos nossos clientes?
— Claro que não.
— E nunca discutiria os nossos negócios com alguém que não fosse do banco?
— Nunca.
— Nem com um familiar?
— Não.
— Nem com um amigo?
Gabriel carregou no ícone do stop e olhou para Lavon.
— Vamos aceitar que isto não parece lá muito encorajador — disse Lavon.
— E isto?
Gabriel carregou no play.
— E de que maneira é leal a si mesma?
— Tento viver segundo um determinado código.
— Como por exemplo?
— Nunca tentaria magoar uma pessoa intencionalmente.
— Mesmo que ela a magoasse a si?
— Sim. Mesmo que ela me magoasse.
— E se a Jihan desconfiasse que uma pessoa tinha feito qualquer coisa errada? Tentaria magoá-la nesse caso?
stop.
— Se ele desconfia que ela é desleal — perguntou Lavon — porque lhe está a oferecer uma promoção? Porque não lhe indica a porta da rua?
— Mantém os teus amigos perto e os teus inimigos ainda mais perto.
— Foi o Shamron quem disse isso?
— É possível.
— E onde queres chegar com isso?
— O Al-Siddiqi não a pode despedir porque tem medo que ela saiba demasiado. Por isso, está a usar a promoção como uma desculpa para a voltar a investigar.
— Ele não precisa de desculpas. Só precisa de fazer uns quantos telefonemas para os amigos dele da Mukhabarat.
— Quanto tempo temos, Eli?
— É difícil dizer. Afinal de contas, eles estão muito ocupados neste momento.
— Quanto tempo? — insistiu Gabriel.
— Uns dias, talvez uma semana.
Gabriel aumentou o volume do som da ligação em direto do telefone de Jihan. Ela estava a arrumar a carteira e a dar as boas-noites a Herr Weber.
— Não há problema nenhum se a mandarmos voltar e dermos o assunto por terminado — disse Lavon serenamente.
— Também não haverá dinheiro.
Lavon estava outra vez a mordiscar o lado de dentro da bochecha.
— O que vamos fazer? — perguntou por fim.
— Vamos certificar-nos de que não lhe acontece nada de mal.
— Esperemos que os amigos do senhor Al-Siddiqi da Mukhabarat estejam demasiado ocupados para atenderem os telefonemas dele.
— Sim — concordou Gabriel. — Esperemos.
Passavam poucos minutos das cinco quando Jihan Nawaz saiu do edifício do Bank Weber AG. Um elétrico estava à espera na rotunda; seguiu nele para o outro lado do Danúbio, até à Mozartstrasse, e depois atravessou a pé as ruas silenciosas da Innere Stadt, cantarolando baixinho para esconder o medo. Era uma canção que tinha estado a passar na rádio durante o verão inteiro, daquelas que Jihan nunca tinha ouvido quando era miúda. No bairro de Barudi, em Hama, não houvera música, só o Alcorão.
Quando virou para a rua dela, reparou num homem alto e esbelto, com uma pele exangue e olhos cinzentos, que estava a andar no passeio do outro lado. Tinha-o visto várias vezes nos últimos dias; de facto, estivera sentado atrás dela no elétrico nessa manhã quando ia a caminho do emprego. Na manhã anterior, fora o outro com a cara marcada pelas bexigas que a seguira. E no dia anterior a esse, tinha sido um homem pequeno e atarracado que parecia ser capaz de dobrar um desmonta-pneus. No entanto, o seu preferido era o homem que tinha aparecido no banco como Herr Feliks Adler. Era diferente dos outros, pensou. Era um verdadeiro artista.
O medo libertou-a o tempo suficiente para ir buscar o correio à caixa. O chão do átrio estava coberto de folhetos; passou por cima deles, subiu as escadas até ao apartamento e entrou. A sala estava exatamente como a tinha deixado, tal como a cozinha e o quarto. Sentou-se ao computador e foi ao Facebook e ao Twitter e, durante uns minutos, conseguiu convencer-se de que a conversa com o senhor Al-Siddiqi tinha sido um diálogo de trabalho normal. Depois, o medo voltou e as mãos começaram a tremer-lhe.
E se a Jihan desconfiasse que uma pessoa tinha feito qualquer coisa errada? Tentaria magoá-la nesse caso?
Agarrou no telefone e ligou para a mulher que conhecia como Ingrid Roth.
— Não me apetece nada estar sozinha agora. Achas que dá para passar por aí?
— Era capaz de ser melhor não fazeres isso.
— Há algum problema?
— Estou apenas a tentar despachar um trabalho.
— Está tudo bem?
— Está tudo bem.
— Tens a certeza, Ingrid?
— Tenho, pois.
A chamada caiu. Jihan pousou o telefone ao lado do computador e aproximou-se da janela. E, por um breve instante, teve um vislumbre da cara de um homem a observá-la do outro lado da rua. Se calhar, você trabalha para o senhor Al-Siddiqi, pensou quando a cara do homem desapareceu. Se calhar, já estou morta.
A delegação do ministro alemão foi a primeira a chegar. Viktor Orlov achou apropriado, pois sempre considerara os alemães uns expansionistas natos. A passagem pela fiscalização de passaportes foi-lhes facilitada pela ajuda de um assistente oficial britânico e foram acompanhados até ao átrio das chegadas, onde uma mulher bonita — russa, mas não ostensivamente — estava num quiosque improvisado que dizia A INICIATIVA EMPRESARIAL EUROPEIA. A rapariga confirmou os nomes e encaminhou-os para um autocarro luxuoso que estava à espera e os levou para o Dorchester Hotel, o hotel oficial da conferência. Só um dos membros da delegação, um delegado que fazia uma coisa qualquer que tinha que ver com comércio, se queixou do alojamento. Fora isso, foi um excelente início.
Os holandeses chegaram depois, seguidos pelos franceses e os italianos e os espanhóis e um grupo de noruegueses que parecia ter vindo a Londres para um funeral. Depois, foi o aço alemão, seguido pelos automóveis alemães e pelos eletrodomésticos também alemães. A delegação da indústria da moda italiana fez a chegada mais espalhafatosa e a mais discreta foi a dos banqueiros suíços, que conseguiram entrar na cidade sem serem notados. Os gregos mandaram um único ministro-adjunto, cuja função era pedir dinheiro. Orlov referia-se a este como o ministro de Boné na Mão.
A seguir, chegou a delegação da Maersk, o consórcio dinamarquês de energia e transportes marítimos. Depois, a meio da tarde, num voo da British Airways vindo de Viena, chegou um homem chamado Waleed al-Siddiqi, primeiramente de Damasco e ultimamente de Linz, onde tinha uma participação num pequeno banco privado. Curiosamente, foi o único convidado que chegou com guarda-costas, além do primeiro-ministro italiano, que ninguém queria ver morto. A rapariga do quiosque teve de se esforçar durante uns curtos momentos para o encontrar na lista, pois faltava o artigo definido al no nome. Era um pequeno erro, completamente não intencional, que o Departamento considerava ser o traço distintivo de qualquer operação bem planeada.
Parecendo um pouco aborrecidos, Al-Siddiqi e os guarda-costas encaminharam-se para o exterior, onde uma limusina Mercedes de cortesia esperava junto ao passeio. O carro pertencia ao MI6, tal como o motorista. Uns cinquenta metros atrás da limusina, estava um Opel Astra vermelho. Nigel Whitcombe estava sentado ao volante; Gabriel estava sentado no lugar do passageiro, com um auricular minúsculo. O auricular, assim como o transmissor escondido a que estava ligado, mostraram ser desnecessários pois Waleed al-Siddiqi passou toda a viagem até Londres no mais completo e profundo silêncio. Fora isso, foi, pensou Gabriel, um excelente início.
Seguiram-no até Dorchester; depois Whitcombe deixou Gabriel num apartamento seguro do Departamento, que não era assim tão seguro, na Bayswater Road. A sala de estar dava para Lancaster Gate e o Hyde Park e foi aí que Gabriel montou o modesto posto de comando. Tinha um telefone seguro e dois computadores portáteis, um ligado à rede do MI6 e o outro ligado à equipa em Linz. O computador do MI6 permitia-lhe monitorizar o sinal do transmissor que tinha sido instalado no quarto de hotel de Al-Siddiqi; o sinal do telemóvel desprotegido de Jihan passava no outro. Naquele momento, ela estava a andar pela Mozartstrasse, cantarolando baixinho. Segundo o relatório que acompanhava a vigilância, Mikhail Abramov seguia atrás dela e Yaakov Rossman percorria o passeio do lado oposto. Não havia sinal do inimigo. Não havia sinal de problemas.
E foi assim que Gabriel passou aquela longa noite a escutar outras vidas, a ler a torrente sóbria de relatórios de vigilância, a deambular por operações passadas. Percorreu o chão da sala de um lado para o outro, atormentou-se com uma centena de pormenores, pensou na mulher e nos filhos ainda por nascer. E, às duas da manhã, quando Jihan se acordou a ela mesma com um grito de terror, Gabriel considerou, por breves instantes, a hipótese de a fazer desaparecer. Mas não era possível, para já, ainda não. Não precisava apenas do caderno de notas de Waleed al-Siddiqi; também precisava do que estava no computador pessoal dele. E, para isso, precisava da filha de Hama.
Por fim, quando o céu estava a começar a iluminar-se a leste, deitou-se no sofá e dormiu. Acordou três horas depois, com um relato da Al Jazeera sobre a última atrocidade na Síria, seguido pelo chapinhar de água na luxuosa banheira com jacúzi de Waleed al-Siddiqi. O banqueiro privado saiu do quarto às oito e meia e, acompanhado pelos guarda-costas, participou do abundante pequeno-almoço do Dorchester. Enquanto lia o jornal, uma equipa do MI6 revistou-lhe o quarto para ver se, por um acaso qualquer, se teria esquecido do caderno. Não tinha.
Saiu do átrio do hotel sem os guarda-costas, às nove e vinte, com um conjunto de credenciais penduradas ao pescoço por uma fita azul e dourada. Gabriel soube disso porque uma fotografia de vigilância do MI6 apareceu no ecrã do computador dois minutos depois. A fotografia seguinte mostrava Al-Siddiqi a dar o nome à mesma rapariga russa que o tinha recebido no aeroporto. E, na seguinte, estava a entrar num autocarro luxuoso que o levou para leste, por Londres, até à entrada da Somerset House. Outro agente do MI6 tirou-lhe uma fotografia quando desceu do autocarro e passou, sem dizer uma palavra, por um pequeno grupo de repórteres. Os olhos chispavam-lhe de arrogância — e, talvez, pensou Gabriel, com um traço de orgulho deslocado. Parecia que Waleed al-Siddiqi tinha chegado ao ponto mais alto do mundo empresarial europeu. A sua estada ali não iria ser longa, pensou Gabriel. E a queda iria ser mais violenta do que a maior parte das outras.
Quando Gabriel o voltou a ver, o banqueiro privado estava a atravessar a área calcetada do Fountain Courtyard. A seguir, passados dois minutos, estava instalado no lugar que lhe cabia, numa magnífica sala de reuniões com o teto alto e com vista para o Tamisa. À esquerda, vestido em várias tonalidades de cinzento, estava Martin Landesmann, o bilionário suíço dos fundos de investimento. O cumprimento entre ambos — que Gabriel conseguiu ouvir graças a um transmissor escondido do MI6 — foi comedido, mas cordial. Landesmann depressa se embrenhou numa conversa com um dos executivos da Maersk, dando a Al-Siddiqi uns momentos para rever o monte de material impresso que tinha sido deixado no seu lugar. Aborrecido, fez um telefonema rápido, mas Gabriel não percebeu para quem. Depois ouviram-se umas batidas agudas que pareciam pregos a serem martelados num caixão. Mas não era um caixão; era apenas Viktor Orlov, a usar o martelo para iniciar a Iniciativa Empresarial Europeia.
Era em alturas como aquela que Gabriel se sentia satisfeito por ter nascido numa família de artistas e não numa família de gente de negócios. Porque, nas quatro horas seguintes, foi obrigado a suportar uma discussão estupidificante sobre a confiança do consumidor europeu, as margens de lucro antes dos impostos, o valor estandardizado, a proporção da dívida para o rendimento, os eurobonds, as obrigações em eurodólares e as euroemissões. Sentiu-se grato pelo intervalo do meio-dia; passou-o a ouvir Jihan e Dina, que almoçaram na Hauptplatz sob os olhares atentos de Oded e Eli Lavon.
A sessão da tarde da conferência começou às duas e foi imediatamente tomada de assalto por Martin Landesmann, que fez um discurso apaixonado sobre o aquecimento global e os combustíveis fósseis que deu origem a muito rolar de olhos e abanar de cabeças por parte dos homens da Maersk. Às quatro, uma moção apressadamente redigida sobre recomendações para políticas foi aprovada por unanimidade, tal como uma segunda moção que pedia outra reunião em Londres no ano seguinte. Depois, Viktor Orlov dirigiu-se à imprensa no Fountain Courtyard, declarando que a conferência tinha sido um êxito esmagador. Sozinho no apartamento seguro, Gabriel preferiu reservar a sua opinião.
A seguir, os delegados regressaram ao Dorchester para um curto descanso. Al-Siddiqi fez dois telefonemas do quarto, um para a mulher e outro para Jihan. Depois enfiou-se num autocarro da organização para o jantar no Turbine Hall da Tate Modern. Ficou sentado entre dois banqueiros suíços que passaram a maior parte da noite a queixar-se dos regulamentos bancários europeus que estavam a ameaçar o modelo de negócios deles. Al-Siddiqi culpou os americanos. Depois, por entre dentes, disse qualquer coisa sobre os judeus que fez os banqueiros suíços rirem-se à gargalhada.
— Ouça, Waleed — disse um dos gnomos —, devia mesmo fazer-nos uma visita da próxima vez que for a Zurique. Tenho a certeza de que lhe poderemos ser úteis, a si e aos seus clientes.
Os banqueiros suíços disseram que tinham de se levantar cedo e foram-se embora antes da sobremesa. Al-Siddiqi passou uns minutos a conversar com um homem do Lloyds sobre o risco de fazer negócios com os russos e depois deu a noite por terminada. Dormiu bem nessa noite, tal como Gabriel, e acordaram ao mesmo tempo, na manhã seguinte, com a notícia de que as forças governamentais sírias tinham registado uma vitória importante sobre os rebeldes na cidade de Homs. Al-Siddiqi tomou banho e comeu um pequeno-almoço luxuoso; Gabriel tomou um duche rápido e engoliu uma chávena de Nescafé duplamente forte. A seguir, dirigiu-se para a Bayswater Road e entrou para o lugar do passageiro de um Opel Astra que o esperava. Ao volante, com o uniforme azul de segurança do aeroporto, estava Nigel Whitcombe. Enfiou-se cuidadosamente no meio do trânsito matinal e seguiram para Heathrow.
Às 8h32, caía uma chuva suave quando Waleed al-Siddiqi saiu pela grande porta de entrada do Hotel Dorchester, com um guarda-costas de cada lado. A limusina de luxo do MI6 estava à espera na entrada, juntamente com o motorista do MI6, que estava de pé ao lado da porta aberta, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, balançando-se ao de leve nas pontas dos pés.
— Senhor Siddiqi — chamou, tirando conscientemente o artigo definido do nome do cliente. — Permitam-me que os ajude, cavalheiros.
E foi precisamente o que fez, pondo as malas na bagageira e os donos delas dentro do carro: um guarda-costas no lugar do passageiro da frente, o outro atrás do lugar do motorista e o «senhor Siddiqi» no lugar do passageiro no banco de trás. Às 8h34, o carro virou para Park Lane. ALVO A CAMINHO, dizia a mensagem que apareceu na rede de comunicações do MI6. FOTOS QUANDO PEDIDAS.
A viagem até ao Aeroporto de Heathrow levou quarenta e cinco minutos e foi facilitada por o carro de Al-Siddiqi fazer parte de um cortejo clandestino do MI6, constituído por seis veículos. O voo, o 700 da British Airways, com destino a Viena, partia do Terminal 3. O motorista tirou as malas do porta-bagagens, desejou aos clientes uma boa viagem e, em troca, recebeu um olhar inexpressivo. Como o banqueiro sírio estava a viajar em primeira classe, o processo do check-in levou apenas dez minutos. A rapariga do balcão fez um círculo à volta do número no cartão de embarque e apontou para a área de segurança apropriada.
— Mesmo ali — disse. — Está com sorte, senhor Al-Siddiqi. As filas não estão demasiado assustadoras hoje de manhã.
Era impossível dizer se Waleed al-Siddiqi se considerava com sorte porque a expressão que ostentava enquanto atravessava o átrio cintilante de luzes e quadros com informações sobre os voos era a expressão de um homem a debater-se com assuntos mais sérios. Com os guarda-costas a seguirem-no, apresentou o passaporte e o cartão de embarque ao guarda da segurança para uma última inspeção e foi juntar-se à mais pequena das três filas. Viajante experimentado, despiu o casaco sem pressas e tirou os aparelhos eletrónicos e os líquidos que eram exigidos da pasta e do saco. Sem sapatos e em mangas de camisa, ficou a ver a correia transportadora sugar os pertences para dentro da barriga da máquina de raios X. Depois, quando lhe disseram, entrou no scanner de ondas milimétricas e levantou os braços com lassidão como se se estivesse a render depois de um longo cerco.
Tendo-se verificado que não tinha na sua posse nada proibido ou remotamente perigoso, foi convidado a ocupar o lugar que lhe cabia no final da correia transportadora. Um casal americano, de ar jovem e próspero, estava à espera à frente dele. Quando os cestos deles apareceram a rolar na correia, agarraram rapidamente nos pertences e apressaram-se para a zona comercial. Waleed al-Siddiqi franziu o sobrolho com uma expressão de superioridade e avançou. Distraidamente, apalpou a frente da camisa. Depois olhou para a correia transportadora imóvel e ficou à espera.
Durante trinta longos segundos, três seguranças franziram o sobrolho enquanto olhavam para o ecrã da máquina de raios X como se receassem que o doente já não tivesse muito tempo de vida. Por fim, um dos agentes afastou-se dos outros e, com o cesto de plástico na mão, dirigiu-se para o sítio onde Al-Siddiqi estava parado. O nome na placa no bolso do peito dizia CHARLES DAVIES. O seu nome verdadeiro era Nigel Whitcombe.
— Estas coisas são suas? — perguntou Whitcombe.
— Sim, são — respondeu Al-Siddiqi secamente.
— Precisamos de fazer uma fiscalização adicional. Não vai demorar nada — acrescentou Whitcombe jovialmente — e depois deixamo-lo ir à vontade.
— Seria possível dar-me o casaco do fato?
— Lamento — replicou Whitcombe, abanando a cabeça. — Há algum problema?
— Não — disse Al-Siddiqi, sorrindo contra vontade. — Não há problema nenhum.
Whitcombe convidou o banqueiro e os guarda-costas a sentarem-se na zona de espera. Depois levou o cesto de plástico para trás de uma barreira e depositou-o na mesa de inspeção, ao lado da pasta e do saco com o fato de Al-Siddiqi. O caderninho de notas encadernado em pele estava exatamente onde Jihan Nawaz tinha dito que estaria, no bolso esquerdo do peito do casaco. Whitcombe entregou-o rapidamente a uma jovem agente do MI6 chamada Clarissa, que o levou, numa distância curta, até uma porta que se abriu quando ela se aproximou. Do outro lado da porta, ficava uma sala pequena com paredes brancas e vazias ocupada por dois homens. Um dos homens era o seu diretor-geral. O outro era um homem com brilhantes olhos verdes e têmporas grisalhas, cujas façanhas ela tinha lido nos jornais. Houve qualquer coisa que a fez entregar o caderno de notas ao homem com os olhos verdes e não ao diretor-geral. Aceitando-o sem dizer uma palavra, abriu-o na primeira página e pô-lo debaixo da lente da máquina fotográfica de alta resolução para leitura de documentos. A seguir, encostou o olho ao visor e tirou a primeira fotografia.
— Vira a página — disse baixinho e, quando o diretor-geral do MI6 virou a página, tirou outra fotografia.
— Outra vez, Graham.
Clique…
— A próxima.
Clique…
— Mais depressa, Graham.
Clique…
— Outra vez.
Clique…
A mensagem de texto apareceu no telemóvel de Jihan às dez e meia, hora austríaca: POSSO ALMOÇAR. APETECE-TE O FRANZESCO? O assunto era inócuo. No entanto, a escolha de restaurantes não. Era um sinal pré-combinado. Durante uns segundos, Jihan sentiu-se incapaz de respirar; ao que parecia, Hama tinha-se apoderado do seu coração. Foram precisas várias tentativas até conseguir escrever uma resposta com três palavras: TENS A CERTEZA? A resposta chegou com a rapidez do tiro de uma espingarda: CLARO QUE SIM! MAL POSSO ESPERAR.
Com a mão a tremer, Jihan pousou o telemóvel em cima da secretária e depois levantou o auscultador do telefone com multilinhas do escritório. Havia vários números programados nos botões de marcação rápida, incluindo um que estava identificado como TELEMÓVEL DO SR. AL-SIDDIQI. Ensaiou as deixas do guião uma última vez. A seguir, estendeu a mão e carregou no botão. Ninguém atendeu a chamada e, por causa disso, Jihan sentiu-se momentaneamente aliviada. Desligou sem deixar mensagem. Depois, voltou a inspirar fundo e tornou a marcar o número.
A primeira chamada de Jihan para Waleed al-Siddiqi não foi atendida porque nesse momento o telemóvel dele ainda estava na posse do segurança do Aeroporto de Heathrow chamado Charles Davies, também conhecido como Nigel Whitcombe. Quando a segunda chamada chegou, já tinha outra vez o telemóvel em seu poder, mas estava demasiado absorto para responder; estava a verificar se o caderno de notas em pele ainda se encontrava no bolso esquerdo do casaco do fato, e estava. A terceira chamada apanhou-o na área do duty-free do terminal e muito maldisposto. Respondeu com pouco mais do que um grunhido.
— Senhor Al-Siddiqi! — exclamou Jihan, como se estivesse satisfeita por lhe ouvir a voz. — Ainda bem que o consigo apanhar antes de entrar para o avião. Lamento, mas temos um pequeno problema nas Ilhas Caimão. Pode dar-me uns momentos de atenção?
O problema, explicou, eram as cartas de constituição em sociedade comercial autenticadas por um notário de uma empresa chamada LXR Investments of Luxembourg.
— O que se passa com elas?
— Desapareceram.
— O que está para aí a dizer?
— Acabei de receber um telefonema do Dennis Cahill, do Trade Winds Bank de Georgetown.
— Conheço o nome.
— O senhor Cahill diz que não consegue encontrar os documentos do registo da empresa.
— Por acaso, sei que o meu representante até lhe entregou essas cartas pessoalmente.
— O senhor Cahill não põe isso em causa.
— Então qual é o problema?
— Fiquei com a impressão de que foram trituradas por engano — disse Jihan. — Ele gostava que lhe mandássemos um conjunto novo.
— Quando?
— Imediatamente.
— E qual é a pressa?
— Segundo parece, tem qualquer coisa que ver com os americanos. Ele não entrou em pormenores.
Entredentes, Al-Siddiqi murmurou uma antiga praga síria relacionada com burros e parentes afastados. Jihan sorriu. A mãe tinha usado a mesma expressão nas raras ocasiões em que perdera as estribeiras.
— Acho que tenho cópias desses documentos no computador do meu gabinete — disse ele, passados uns momentos. — Aliás, tenho a certeza.
— E o que quer que eu faça, senhor Al-Siddiqi?
— Que os mande a esse idiota do Trade Winds Bank, claro.
— E não se importa que lhe ligue do meu telemóvel? É capaz de ser mais fácil assim.
— Depressa, Jihan. Estão a chamar para o meu voo.
Sim, pensou ela enquanto desligava o telefone. Vamos lá fazer isso depressa.
Abriu a gaveta de cima da secretária e tirou dois objetos: uma pasta de couro preta e um disco rígido externo, também preto, com cerca de sete centímetros e meio por doze e meio. O disco rígido estava por baixo da pasta, para que as câmaras de segurança no teto não o pudessem captar. Apertou os dois objetos com força contra a parte da frente da blusa, levantou-se e começou a descer o corredor para a porta do gabinete do senhor Al-Siddiqi. Marcou o número dele enquanto andava. Ele respondeu exatamente quando ela lá chegou.
— Estou pronta — disse.
— O código é oito, sete, nove, quatro, um, dois. Apanhou tudo?
— Sim, senhor Al-Siddiqi. Um momento, por favor.
Usando a mão com que segurava o telefone, marcou rapidamente os seis dígitos corretos e carregou no ENTER. Os fechos de segurança abriram com um estalido que foi audível do outro lado da linha.
— Entre — disse-lhe Al-Siddiqi.
Jihan empurrou a porta. Deparou com uma escuridão profunda. Não fez nada para a extinguir.
— Já cá estou — disse.
— Ligue o computador.
Jihan sentou-se na cadeira de executivo em pele. Estava quente, como se ele tivesse acabado de se levantar de lá. O monitor do computador, apagado, estava à esquerda, o teclado, uns centímetros à frente dele, e a UCP, no chão, ao lado da secretária. Debruçou-se e executou sem falhas a mesma manobra que tinha treinado tantas vezes na casa do Attersee — a manobra que treinara às escuras, com o alemão sem nome a gritar-lhe que o senhor Al-Siddiqi estava a chegar para a matar. Mas ele não estava a chegar para a matar; estava do outro lado da linha, a dizer-lhe calmamente o que tinha de fazer.
— Preparada? — perguntou.
— Ainda não, senhor Al-Siddiqi.
Seguiram-se uns instantes de silêncio.
— E agora, Jihan?
— Sim, senhor Al-Siddiqi.
— Está a ver a caixa de entrada?
Respondeu-lhe que sim.
— Vou dar-lhe outro número de seis dígitos. Está preparada?
— Sim — repetiu ela.
Recitou-lhe os seis números. E estes levaram Jihan ao menu principal do mundo secreto do senhor Al-Siddiqi. Quando voltou a falar, conseguiu parecer calma, quase aborrecida.
— Funcionou — informou.
— E está a ver a pasta principal com os meus documentos?
— Sim, acho que sim.
— Carregue nela, se faz favor.
Ela assim fez. O computador pediu outra palavra-passe.
— É igual à última.
— Desculpe, mas já me esqueci, senhor Al-Siddiqi.
Repetiu-lhe o número. Quando foi introduzido na caixa de entrada, a pasta abriu-se. Jihan viu nomes de dezenas de empresas: empresas de investimento, holdings, empresas do mercado imobiliário, firmas de importação e exportação. Reconheceu alguns dos nomes pois tinha tratado de transações relacionadas com eles. Todavia, a maioria era-lhe desconhecida.
— Escreva LXR Investments na caixa de pesquisa, se faz favor.
Ela obedeceu. Apareceram dez pastas.
— Abra a que diz Registo.
Tentou.
— Está a pedir outra palavra-passe.
— Experimente a mesma.
— Importa-se de a repetir, se fizer o favor?
Repetiu-lha. Mas quando Jihan a introduziu, a pasta continuou fechada e apareceu uma mensagem a desaconselhar entradas não autorizadas.
— Espere um minuto, Jihan.
Jihan apertou o telemóvel com força contra o ouvido. Conseguiu ouvir a chamada final para um voo para Viena e o frufru de páginas a serem passadas.
— Deixe-me dar-lhe outro número — disse Al-Siddiqi por fim.
— Estou pronta — respondeu ela.
Recitou-lhe seis números novos. Jihan introduziu-os na caixa e disse:
— Já entrei.
— Está a ver o ficheiro PDF para as cartas de constituição em sociedade?
— Sim.
— Anexe-as a um e-mail e mande-as a esse idiota do Trade Winds. Mas faça-me um favor — acrescentou rapidamente.
— Claro, senhor Al-Siddiqi.
— Mande-as do seu endereço.
— Com certeza.
Anexou os documentos a um e-mail em branco, introduziu o endereço dela e carregou no ENVIAR.
— Feito — disse.
— Agora tenho de desligar.
— Faça boa viagem.
A ligação foi interrompida. Jihan pousou o telemóvel na secretária de Al-Siddiqi, ao lado do teclado, e saiu do gabinete. A porta, quando fechada, trancou automaticamente depois de ela sair. Jihan voltou calmamente para a secretária, com seis números a passarem-lhe pela cabeça: oito, sete, nove, quatro, um, dois…
Por trás de uma porta não identificada, bem no interior do Terminal 3 do Aeroporto de Heathrow, Gabriel estava sentado a olhar para um computador portátil aberto, com Graham Seymour ao lado. Na mão tinha uma pen drive com o que se encontrava no caderno de notas do senhor Al-Siddiqi; e, no ecrã do computador, estava uma imagem vídeo em tempo real do banco privado do senhor Al-Siddiqi em Linz, cortesia de Yossi Gavish, que estava sentado num Opel estacionado à porta. O relatório de vigilância não indicava qualquer sinal do inimigo, qualquer sinal de problemas. Ao lado, estava um relógio de contagem decrescente: 8m27s, 8m26s, 8m25s, 8m24s… Era o tempo que faltava para o download do material do computador do senhor Al-Siddiqi.
— Então e o que acontece a seguir? — perguntou Seymour.
— Esperamos até os números todos passarem a zero.
— E depois?
— A Jihan vai lembrar-se que deixou o telemóvel na secretária do senhor Al-Siddiqi.
— Esperemos que o Al-Siddiqi não tenha maneira de alterar à distância o código da porta do gabinete.
Gabriel olhou para o relógio: 8m06s, 8m05s, 8m04s…
Sete minutos depois, Jihan Nawaz começou a procurar o telemóvel. Era uma simulação, uma mentira, representada para as câmaras de vigilância do senhor Al-Siddiqi e, talvez, para os próprios nervos dela. Procurou no tampo da secretária, nas gavetas, no chão à volta, no cesto dos papéis. Até procurou na casa de banho e na sala de descanso, embora tivesse a certeza de que não tinha estado em nenhum desses sítios desde que utilizara o telemóvel pela última vez. Por fim, marcou o número ligando do telefone fixo em cima da secretária e ouviu-o tocar baixinho do outro lado da porta do senhor Al-Siddiqi. Praguejou baixinho, mais uma vez para as câmaras do senhor Al-Siddiqi, e ligou para o telemóvel dele para pedir licença para entrar no gabinete. Ninguém atendeu. Voltou a ligar, com o mesmo resultado.
Tornou a pousar o auscultador no descanso. De certeza, pensou, mais uma vez em proveito próprio, que o senhor Al-Siddiqi não se importaria se ela entrasse no gabinete para ir buscar o telemóvel. Afinal, tinha acabado de lhe conceder acesso aos seus ficheiros mais pessoais. Olhou para o relógio e viu que tinham passado dez minutos. Depois, agarrou numa pasta de couro preta e levantou-se. Forçou-se a andar sem pressas até à porta dele; sentiu a mão dormente enquanto marcava os seis números no teclado com código secreto: oito, sete, nove, quatro, um, dois… O ferrolho abriu-se instantaneamente com um estalido forte. Imaginou que era o percussor da pistola que lhe iria disparar a bala fatal na cabeça. Empurrou a porta e entrou, cantarolando baixinho para esconder o medo.
A escuridão era impenetrável, absoluta. Dirigiu-se para a secretária e pousou a mão direita no telemóvel. Depois, com a esquerda, pousou a pasta em cima da outra igual que tinha lá deixado dez minutos atrás — a pasta que estava esconder o disco duro externo da vista das câmaras do senhor Al-Siddiqi. Num movimento rápido e treinado, tirou a pen da porta USB e levantou os três objetos — o disco rígido e as duas pastas iguais —, apertando-os contra a parte da frente da blusa. A seguir, saiu e fechou a porta. Os ferrolhos fecharam-se com outro tiro de pistola. Enquanto voltava para a secretária, os números encheram-lhe novamente os pensamentos. Eram o número de dias, o número de horas, que ainda tinha de vida.
À uma hora da tarde, Jihan informou Herr Weber de que ia almoçar. Agarrou na carteira e pôs os óculos de sol à estrela de cinema. Depois, com um baixar de cabeça seco a Sabrina, a rececionista, saiu para a rua. Na rotunda, estava um elétrico parado à espera; subiu a bordo rapidamente, seguida poucos segundos depois pelo sujeito alto com pele exangue e olhos cinzentos. Sentou-se mais perto de Jihan do que o habitual, como se estivesse a tentar dar-lhe segurança; e quando ela desceu na Mozartstrasse, o da cara marcada pelas bexigas estava à espera para a acompanhar até ao Franzesco. A mulher que conhecia como Ingrid Roth estava a ler D. H. Lawrence numa mesa ao sol. Quando Jihan se sentou à frente dela, baixou o livro e sorriu.
— Como foi a tua manhã? — perguntou.
— Produtiva.
— Está na tua carteira?
Jihan assentiu com a cabeça.
— Vamos pedir?
— Não consigo comer.
— Come qualquer coisa, Jihan. E sorri — acrescentou ela. — É importante que sorrias.
O voo 316 da El Al parte diariamente do Terminal 1 de Heathrow, às 14h20. Gabriel entrou no avião com alguns minutos de folga, enfiou a bagagem no compartimento por cima da cabeça e sentou-se no lugar que lhe cabia, na primeira classe. O lugar ao lado não estava ocupado. Passados uns instantes, Chiara instalou-se nele.
— Olá, desconhecido — disse ela.
— Como conseguiste isto?
— Amigos em lugares importantes.
Sorriu.
— Como correram as coisas lá?
Sem falar, Gabriel ergueu a pen.
— E a Jihan?
Assentiu com a cabeça.
— Quanto tempo temos para descobrir o dinheiro?
— Pouco — respondeu ele.
A unidade que trabalhava duramente na Sala 414C da Avenida Rei Saul não tinha um nome oficial, porque, oficialmente, não existia. Os que tinham sido informados do trabalho dela referiam-se-lhe como os minian, pois a unidade era constituída por dez membros exclusivamente do sexo masculino. Sabiam pouco de espionagem pura ou de operações de combate especiais, embora a terminologia que utilizavam fosse buscar muito às duas disciplinas. Penetravam nas redes enfiando-se por portas traseiras ou com ataques de força bruta; utilizavam cavalos de Troia, bombas-relógio e chapéus pretos. Carregando apenas numas quantas teclas, conseguiam pôr uma cidade às escuras, cegar a rede de vigilância do trânsito aéreo ou fazer com que as centrifugadoras de uma fábrica nuclear iraniana de enriquecimento de urânio começassem a girar loucamente, completamente desgovernadas. Em resumo, tinham a capacidade de virar as máquinas contra os donos. Em privado, Uzi Navot dizia que os minian eram dez boas razões para ninguém que fosse bom do juízo usar um computador ou um telemóvel.
Estavam à espera nos seus terminais, uma equipa heterogénea de calças de ganga azuis e camisola, quando Gabriel voltou para Avenida Rei Saul, trazendo o conteúdo do caderno de notas e do computador de Waleed al-Siddiqi. Primeiro, examinaram o Trade Winds Bank das Ilhas Caimão, uma instituição que já tinham visitado em várias ocasiões, e foi aí que fizeram a primeira descoberta importante. Os números das duas contas abertas recentemente em nome da LXR Investments não condiziam com os números que Al-Siddiqi inscrevera no caderno de notas; tinha-os introduzido num código rudimentar, uma inversão dos numerais, que eles rapidamente decifraram. Ao que parecia, gostava do Trade Winds, já que tinha lá aberto outras dez contas de holdings sob o nome de várias empresas-fachada e testas de ferro. Tudo somado, o pequeno banco das Ilhas Caimão tinha mais de 300 milhões de dólares em ativos da Evil Incorporated. Além disso, o caderno de notas e os ficheiros do computador revelavam que cinco outros bancos das Ilhas Caimão tinham contas em nome da LXR Investments ou de outras empresas-fachada. O total global, num único centro bancário offshore, era de 1,2 mil milhões de dólares. E isso era apenas o princípio.
Trabalharam geograficamente, metodicamente, e com Gabriel a espreitar por cima dos ombros deles a cada passo que davam. Das Ilhas Caimão, deslocaram-se para norte, para as Bermudas, onde mais três bancos detinham mais de 600 milhões de dólares. Depois fizeram uma visita rápida às Baamas antes de viajarem até ao Panamá, onde desenterraram outros 500 milhões de dólares guardados em catorze contas elencadas no caderno de notas de Al-Siddiqi. O passeio ao hemisfério ocidental acabou em Buenos Aires, a cidade dos biltres e dos criminosos de guerra, onde descobriram outros 400 milhões repartidos por uma dezena de contas. Em nenhuma das paragens ao longo da viagem tiraram um único cêntimo. Limitaram-se a instalar os alçapões e os circuitos de encaminhamento invisíveis que lhes permitiriam, na altura que quisessem, executar o maior roubo a um banco de que havia registo na História.
Mas o dinheiro não era a única preocupação de Gabriel. E, por isso, enquanto os piratas informáticos expandiam a busca ao centro bancário offshore de Hong Kong, percorreu o corredor até ao seu covil vazio para analisar a última leva de relatórios de vigilância de Linz. Era o final da manhã na Áustria Superior; Jihan estava sentada à secretária, Waleed al-Siddiqi estava a escrever rapidamente no computador de secretária. Gabriel sabia-o porque, no Aeroporto de Heathrow, tinha feito mais do que fotografar as páginas do caderno de notas secreto de Al-Siddiqi. Também pirateara o telemóvel do banqueiro. Tal como o de Jihan, o aparelho estava agora a funcionar como um transmissor áudio permanente. Além disso, a equipa tinha capacidade para ler à vontade os e-mails e as mensagens de texto e tirar fotografias e filmar vídeos com a câmara do telefone. Agora, Waleed al-Siddiqi, banqueiro privado da família do presidente da Síria, pertencia ao Departamento. Eram donos dele.
Quando Gabriel voltou para a oficina dos piratas informáticos, trazia com ele o velho quadro preto com moldura de madeira. Os ciberespiões acharam-no um objeto curioso; de facto, a maioria nunca tinha visto tal engenhoca. Gabriel escreveu nele um número: 2,9 mil milhões de dólares, o valor total das contas identificadas e isoladas até ao momento. E quando os piratas informáticos acabaram o trabalho em Hong Kong, mudou o número para 3,6 mil milhões de dólares. O Dubai subiu o valor para 4,7 mil milhões; Amã e Beirute, para 5,4 mil milhões. A França e o Liechenstein acrescentaram outros 800 milhões e, sem surpresa, os bancos da Suíça contribuíram com uns tremendos 2 mil milhões, elevando o total aos 8,2 mil milhões de dólares. Os bancos de Londres guardavam outros 600 milhões de libras. Seguindo as ordens de Gabriel, os piratas informáticos construíram os seus alçapões e circuitos invisíveis para o caso, improvável, de Graham Seymour não cumprir a promessa de congelar o dinheiro.
Nessa altura, já tinham passado outras trinta horas, trinta horas durante as quais Gabriel e os piratas informáticos não tinham dormido nem consumido nada a não ser café. Era o final da tarde na Áustria Superior; Jihan estava a preparar-se para se ir embora, Waleed al-Siddiqi estava novamente a martelar no teclado do computador de secretária. Com os olhos congestionados, Gabriel ordenou aos piratas informáticos que criassem um botão cerimonial que, ao ser premido, faria desaparecer mais de oito mil milhões de dólares em ativos num abrir e fechar de olhos. Depois subiu para a suíte do diretor. A luz por cima da porta estava verde. Uzi Navot estava a ler um dossiê, sentado à secretária.
— Quanto? — perguntou, olhando para cima.
Gabriel disse-lhe.
— Se fosse menos de oito mil milhões — disse Navot sardonicamente —, até estava disposto a dar a autorização sozinho. Mas, nestas circunstâncias, gostava de trocar umas palavrinhas, em privado, com o primeiro-ministro antes de seja quem for tocar nesse botão.
— Concordo.
— Então, se calhar, devias ser tu a falar com o primeiro-ministro. Afinal de contas — acrescentou Navot —, provavelmente já é altura de vocês os dois se conhecerem melhor.
— Vai haver imenso tempo para isso depois, Uzi.
Navot fechou o dossiê e olhou para o mar pelas tiras das persianas.
— E então como vai ser? — perguntou passados uns instantes. — Deitamos a mão ao dinheiro e a seguir deitamos a mão à rapariga?
— Por acaso — respondeu Gabriel —, tenciono fazê-los desaparecer no mesmo instante.
— E ela está preparada?
— Já está preparada há algum tempo.
— Um desaparecimento misterioso? É o que tencionas fazer?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Sem bagagem, sem marcações de viagens, nada que sugira que ela estava a planear uma viagem. Levamo-la de carro até à Alemanha e depois trazemo-la para Israel via Munique.
— E quem fica com a missão nada invejável de lhe dizer que tem andado a trabalhar para nós?
— Estava a contar ser eu.
— Mas?
— Parece-me que a boa amiga da Jihan, a Ingrid Roth, vá ter de o fazer por mim.
— Queres deitar a mão ao dinheiro hoje à noite?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Então, é melhor ir ter a tal conversinha com o primeiro-ministro.
— Acho que deves, sim.
Navot abanou a cabeça vagarosamente.
— Oito mil milhões de dólares — disse passados uns instantes. — É uma data de dinheiro.
— E tenho a certeza de que há mais algures por aí.
— Oito mil milhões chegam e sobram. E quem sabe — acrescentou Navot —, talvez até seja o suficiente para comprar aquele Caravaggio e recuperá-lo. — Gabriel não lhe deu resposta. — Então e quem vai carregar no botão?
— É uma tarefa para o chefe, Uzi.
— Não seria justo.
— Porquê?
— Porque foi sempre a tua operação, do princípio ao fim.
— E se for um candidato de compromisso? — perguntou Gabriel.
— Em quem estás a pensar?
— A principal especialista do país em assuntos relacionados com a Síria e o movimento Baath.
— Ela é capaz de gostar disso.
Navot estava outra vez a olhar pela janela.
— Gostava que pudesses ser tu a dizer à Jihan que ela tem andado a trabalhar para nós.
— Também eu, Uzi. Mas não há tempo.
— E se ela não entrar no avião?
— Vai entrar.
— Como podes ter essa certeza toda?
— Porque não tem outra escolha.
— Também gostava de meter o Waleed al-Siddiqi num avião — disse Navot. — De preferência, numa caixa de madeira.
— Algo me diz que a Evil Incorporated vai tratar do Waleed por nós quando descobrirem que desapareceram oito mil milhões de dólares que lhes pertenciam.
— E quanto tempo de vida achas que ele tem?
Gabriel olhou para o relógio.
Não demorou muito para que pela comunidade muito unida da segurança e defesa de Israel se espalhasse a notícia de que estava prestes a ocorrer um acontecimento de grande magnitude. Os não iniciados podiam apenas conjeturar sobre o que seria. Os iniciados podiam apenas abanar a cabeça de espanto. Era, declararam, uma proeza de proporções shamronianas, talvez a mais perfeita da carreira dele. Com toda a certeza, tinha chegado a altura de pôr fim ao sofrimento do pobre Uzi Navot e fazer a mudança na Avenida Rei Saul que toda a gente sabia que ia acontecer.
Se Navot sabia dessas conversas, não deu qualquer sinal disso durante o encontro com o primeiro-ministro. Foi vigoroso, autoritário e sóbrio sobre as implicações do que significaria fazer desaparecer oito mil milhões de dólares. Era uma jogada arrojada, disse, que com toda a certeza implicaria retaliações se alguma vez se viesse a saber quem estava por trás da operação. Aconselhou o primeiro-ministro a pôr em alerta máximo o Comando Norte das Forças de Defesa de Israel e a reforçar a segurança das embaixadas israelitas no mundo inteiro, principalmente as que ficavam nas cidades onde os serviços secretos da Síria e do Hezbollah eram mais ativos. O primeiro-ministro concordou com as duas coisas. E também ordenou que fosse reforçada a segurança de todas as redes informáticas e de comunicação essenciais de Israel. Depois, com pouco mais do que um aceno de cabeça, deu a aprovação final.
— Gostava de ser o senhor a carregar no botão? — perguntou Navot.
— É tentador — respondeu o primeiro-ministro, com um sorriso —, mas provavelmente imprudente.
Quando Navot voltou para a Avenida Rei Saul, Gabriel já tinha dado as instruções finais à equipa. Tencionava apoderar-se do dinheiro às nove da noite, hora de Linz, dez em Telavive. Mal o dinheiro tivesse chegado ao destino final, um processo que se esperava que levasse apenas cinco minutos, iria enviar uma mensagem flash para Dina e Christopher Keller, mandando-os apoderarem-se de Jihan. A Divisão de Logística e a Divisão de Transportes iriam limpar a porcaria discretamente.
Às nove da noite, hora de Telavive, não havia mais nada a fazer senão esperar. Gabriel passou essa última hora fechado na Sala 414C, a ouvir os piratas informáticos explicarem pela vigésima vez como os oito mil milhões se iriam deslocar de dezenas de contas espalhadas pelo mundo para uma única conta no Discount Bank, Ltd. de Israel, sem deixar nem uma réstia de fumo digital. E, pela vigésima vez, fingiu que compreendia o que lhe estavam a dizer, embora estivesse o tempo todo a perguntar aos seus botões como era realmente possível uma coisa daquelas. Não compreendia a língua que os piratas informáticos falavam, nem estava especialmente interessado em compreender. Estava apenas satisfeito por estarem do lado dele.
O trabalho desenvolvido na Sala 414C era tão confidencial que nem mesmo o diretor do Departamento sabia o código que abria a porta. Por isso, Uzi Navot teve de bater à porta para entrar. Acompanhado por Bella e Chiara, entrou na sala às 21h50, hora de Telavive, e deram-lhe as mesmas informações que Gabriel recebera uns minutos antes. Ao contrário de Gabriel, que se considerava um homem do século XVI, Navot sabia muito bem como funcionavam os computadores e a Internet. Fez várias perguntas pertinentes, pediu um último conjunto de garantias no que respeitava à possibilidade de poder desmentir tudo e depois deu formalmente a ordem para se apropriarem do dinheiro.
Bella sentou-se ao computador que lhe foi designado e esperou pela ordem de Gabriel para carregar no botão. Eram 21h55 em Telavive; 20h55 em Linz. Jihan Nawaz estava sozinha no apartamento, cantarolando baixinho para esconder o medo. Dois minutos mais tarde, às 20h57, hora local, recebeu um telefonema de Waleed al-Siddiqi. A conversa que se seguiu durou dez minutos. E ainda antes de ter acabado, Gabriel deu ordem para cancelar. Ninguém ia carregar em botão nenhum, disse. Nessa noite, não.
Mais tarde, nessa noite, estalou outra guerra civil no Médio Oriente. Foi mais pequena do que as outras e, felizmente, não houve bombardeamentos nem derramamento de sangue, pois tratou-se de uma guerra de palavras, travada entre pessoas da mesma fé, filhas do mesmo Deus. Mesmo assim, as linhas da batalha eram rígidas e estavam claramente desenhadas. Um lado queria dar a coisa por terminada e arrecadar os proveitos enquanto ainda estavam a jogar com o dinheiro da casa. O outro queria voltar a lançar os dados, mais uma espreitadela ao interior da Evil Incorporated. Para o bem ou para o mal, o cabecilha dessa fação era Gabriel Allon, o futuro chefe dos serviços secretos de Israel. E, por isso, depois de uma discussão que durou a maior parte da noite, Gabriel embarcou no voo 353 da El Al para Munique e, ao princípio da tarde, estava outra vez na sala de estar da casa segura no Attersee, vestido como um anónimo cobrador de impostos de Berlim. Um computador portátil estava aberto em cima da mesa de apoio, com os altifalantes a transmitirem o som inconfundível de Waleed al-Siddiqi a falar árabe. Baixou o som muito ligeiramente quando Jihan e Dina entraram.
— Jihan! — exclamou, como se não estivesse à espera de a ver tão cedo. — Bem-vinda a casa. É ótimo vê-la com tão bom aspeto. Obteve um êxito que ultrapassou tudo o que teríamos imaginado. A sério. Nunca lhe poderemos agradecer o suficiente por tudo o que fez.
Fez todo esse discurso no seu alemão com forte sotaque de Berlim, sempre com o sorriso vazio de um hoteleiro. Jihan olhou para Dina e depois para o computador portátil.
— Foi por isso que me trouxeram cá outra vez? — perguntou por fim. — Porque me queriam agradecer?
— Não — foi tudo o que ele respondeu.
— Então porque cá estou?
— Está cá — respondeu ele, aproximando-se dela vagarosamente — por causa do telefonema que recebeu às oito e cinquenta e sete de ontem à noite.
Inclinou a cabeça para o lado de modo interrogador.
— Lembra-se do telefonema que recebeu a noite passada, não é verdade?
— Foi impossível de esquecer.
— Nós também achamos a mesma coisa.
Ainda tinha a cabeça inclinada para o lado, embora agora a mão direita estivesse a agarrar o queixo pensativamente.
— O sentido de oportunidade da chamada foi extraordinário, no mínimo. Se tivesse chegado poucos minutos depois, a Jihan nunca a teria recebido.
— E porque não?
— Porque se teria ido embora. E o mesmo teria acontecido a uma grande quantidade de dinheiro — acrescentou Gabriel rapidamente. — Oito vírgula dois mil milhões de dólares, para ser exato. Tudo por causa do trabalho corajoso que a Jihan fez.
— E porque não ficaram com eles?
— Era muito tentador — respondeu ele. — Mas, se o tivéssemos feito, teria sido impossível considerar sequer a oportunidade com que o senhor Al-Siddiqi nos presenteou.
— Oportunidade?
— Estava a ouvir as coisas que ele lhe disse a noite passada?
— Tentei não o fazer.
Gabriel pareceu verdadeiramente perplexo com a resposta dela.
— Porquê?
— Porque já não consigo suportar o som da voz dele.
Fez uma pausa e depois acrescentou:
— É-me completamente impossível voltar a entrar pela porta daquele banco. Por favor, façam o dinheiro desaparecer. E depois façam-me desaparecer também.
— Vamos ouvir a gravação do telefonema juntos, está bem? E se continuar a achar o mesmo, saímos da Áustria hoje à tarde, nós todos, e nunca mais voltamos.
— Não fiz as malas.
— E não precisa de fazer. Nós encarregamo-nos de tudo.
— E para onde estão a pensar levar-me?
— Para um sítio seguro. Um sítio onde ninguém a conseguirá encontrar.
— Onde? — voltou a perguntar.
Gabriel não lhe deu qualquer resposta a não ser sentar-se em frente ao computador. Com um clique do rato, silenciou a voz de Waleed al-Siddiqi. Depois, com outro clique, abriu um ficheiro áudio intitulado INTERCEÇÃO 238. Eram 20h57 da noite anterior. Jihan estava sozinha no apartamento, cantarolando baixinho para esconder o medo. E o telefone começou a tocar.
Tocou quatro vezes antes de ela atender e quando o fez parecia ligeiramente ofegante.
— Está?
— Jihan?
— Senhor Al-Siddiqi?
— Desculpe estar a telefonar-lhe tão tarde. Apanho-a numa má altura?
— Não, de maneira nenhuma.
— Há algum problema?
— Não, porquê?
— Parece aborrecida com qualquer coisa.
— Tive de correr para atender, mais nada.
— Tem a certeza? Tem a certeza de que não há nenhum problema?
Gabriel carregou no botão de PAUSE.
— Ele está sempre assim tão preocupado com o seu bem-estar?
— É uma obsessão recente dele.
— E porque deixou o telefone tocar tantas vezes?
— Porque quando vi quem estava a ligar, não quis atender.
— Estava com medo?
— Para onde me vão levar?
Gabriel carregou no PLAY.
— Estou ótima, senhor Al-Siddiqi. Em que lhe posso ser útil?
— Tenho uma coisa importante para discutir consigo.
— Claro, senhor Al-Siddiqi.
— Seria possível passar pelo seu apartamento?
— É tarde.
— Eu sei.
— Desculpe, mas não é de facto boa altura. Não é possível esperar até segunda-feira?
Gabriel carregou no PAUSE.
— Quero felicitá-la pela sua destreza nas artes do ofício. Conseguiu desencorajá-lo com facilidade.
— Artes do ofício?
— É um termo da arte do mundo da espionagem.
— Não tinha percebido que isto era uma operação de espionagem. E não foram artes do ofício nenhumas — acrescentou. — Uma rapariga sunita de Hama nunca permitiria que um homem casado fosse ao apartamento dela sozinho, mesmo que o homem casado fosse o patrão.
Gabriel sorriu e carregou no PLAY.
— Infelizmente, isto não pode esperar até segunda-feira. Preciso que faça uma viagem por mim na segunda-feira.
— Para onde?
— Genebra.
STOP.
— Já lhe tinha pedido que fizesse alguma viagem a representá-lo?
— Nunca.
— E sabe o que vai acontecer em Genebra na segunda-feira?
— O mundo inteiro sabe isso — respondeu ela. — Os americanos, os russos e os europeus vão tentar mediar um acordo de paz entre o regime e os rebeldes sírios.
— Um acontecimento importante, não é?
— Vai ser um diálogo de surdos.
Outro sorriso.
PLAY.
— Porquê Genebra, senhor Al-Siddiqi?
— Preciso que me vá buscar uns documentos. Só lá vai estar uma ou duas horas. Eu até faria isso, mas tenho de estar em Paris nesse dia.
STOP.
— Para que conste — disse Gabriel —, o senhor Al-Siddiqi não comprou nenhum bilhete de avião para Paris para segunda-feira.
— Faz sempre isso à última da hora.
— E porque têm os documentos de ser recolhidos pessoalmente? — perguntou Gabriel, ignorando-a. — Porque não mandá-los por um serviço expresso noturno? Ou porque não por correio eletrónico?
— Não é invulgar os registos financeiros confidenciais serem entregues pessoalmente.
— Especialmente quando estão a ser entregues a um homem como o Waleed al-Siddiqi.
PLAY.
— E o que precisa exatamente que eu faça?
— É muito simples, na verdade. Só preciso que se encontre com um cliente no Hotel Métropole. Ele vai dar-lhe um maço de documentos e a Jihan trá-los para Linz.
— E como se chama o cliente?
— Kemel al-Farouk.
STOP.
— Quem é ele? — perguntou Jihan.
Gabriel sorriu.
— O Kemel al-Farouk tem as chaves do reino — respondeu. — O Kemel al-Farouk é a razão pela qual a Jihan tem de ir a Genebra.
Foram para o terraço e sentaram-se à sombra de um guarda-sol. Um barco a motor que passava abriu uma ferida no lago; depois o barco desapareceu e ficaram sozinhos outra vez. Até poderia ter parecido que eram as duas últimas pessoas no mundo não fosse o som da voz de Waleed al-Siddiqi a sair do computador portátil na sala de estar.
— Estou a ver que adquiriu outro barco — disse Jihan, apontando com a cabeça para o veleiro.
— Bem, na verdade os meus colegas é que o adquiriram por minha causa.
— Porquê?
— Estava a dar com eles em doidos.
— Por causa de quê?
— Da Jihan. Queria ter a certeza de que estávamos a fazer tudo o que era possível para a manter em segurança.
Ela ficou calada por uns instantes.
— Velejar aqui deve ser muito diferente de fazer isso no Báltico. — Olhou para ele e sorriu. — É lá que o senhor velejava, não é? No Báltico? — Ele assentiu com a cabeça lentamente. — Nunca gostei disso — disse ela.
— Do Báltico?
— De velejar. Não gosto da sensação de não estar a dominar as coisas.
— Posso ir a todo o lado naquele barquinho à vela.
— Então deve ser muito bom a dominar.
Gabriel não respondeu.
— Porquê? — perguntou Jihan passados uns instantes. — Porque é assim tão importante conseguirmos esses documentos do Kemel al-Farouk?
— Por causa da relação dele com a família do presidente — respondeu Gabriel. — O Kemel al-Farouk é o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros da Síria. Aliás, vai estar sentado à mesa das negociações quando as conversações começarem segunda-feira à tarde. Mas esse título não corresponde ao alcance da influência que ele tem. O presidente nunca toma uma decisão, política ou financeira, sem falar primeiro com o Kemel. Achamos que há mais dinheiro por aí — acrescentou Gabriel. — Muito mais. E achamos que os documentos do Kemel nos podem indicar o caminho.
— Acham?
— Não há garantias neste ramo, Jihan.
— E que ramo é esse? — Gabriel voltou a ficar calado. — Mas por que razão o senhor Al-Siddiqi quer que eu vá buscar os documentos? — perguntou Jihan. — Porque não vai ele?
— Porque mal a delegação síria chegue a Genebra, vai estar sob vigilância constante dos serviços secretos suíços, já para não falar dos americanos e dos aliados europeus deles. É completamente impossível que o Al-Siddiqi se consiga aproximar da delegação.
— Eu também não me quero aproximar deles. São as mesmas pessoas que destruíram a minha cidade, as mesmas pessoas que assassinaram a minha família. Estou a falar consigo em alemão por causa de homens como eles.
— Então porque não se junta à revolta síria, Jihan? Porque não vinga o assassínio da sua família trazendo-nos esses documentos?
Da sala de estar, chegou o som de Waleed al-Siddiqi a rir.
— Oito mil milhões de dólares não chegam? — perguntou ela passados uns instantes.
— É uma grande soma de dinheiro, Jihan, mas eu quero mais.
— Porquê?
— Porque nos permitirá ter mais influência nas ações dele.
— Do presidente? — Ele assentiu com a cabeça. — Desculpe — disse ela, sorrindo —, mas isso não parece coisa que um cobrador de impostos alemão diga. — Ele esboçou um sorriso evasivo, mas não disse nada. — E como iria a coisa funcionar? — perguntou ela.
— A Jihan vai fazer tudo o que o senhor Al-Siddiqi pedir — respondeu Gabriel. — Vai de avião para Genebra segunda-feira de manhã, muito cedo. No aeroporto, apanha um carro com motorista para o Hotel Métropole e vai buscar os documentos. A seguir, volta para o aeroporto e regressa a Linz.
Fez uma pausa e depois acrescentou:
— A determinada altura, durante a viagem, vai fotografar os documentos com o telemóvel e enviar-mos.
— E depois?
— Se, como suspeitamos, esses documentos forem uma lista de contas adicionais, vamos atacá-las enquanto a Jihan ainda estiver no ar. Quando o avião aterrar em Viena, estará tudo terminado. E depois, fazemo-la desaparecer.
— Para onde? — perguntou ela. — Para onde me vão levar?
— Para um sítio seguro. Um sítio onde ninguém lhe poderá fazer mal.
— Desculpe, mas isso não chega — retorquiu. — Quero saber para onde me tenciona levar quando isto acabar. E, já agora, quando o estiver a fazer, pode dizer-me quem é realmente. E, desta vez, quero a verdade. Sou uma filha de Hama. Não gosto que as pessoas me mintam.
Entraram para o barco a motor com a civilidade forçada de um casal desavindo e desceram o lago para sul. Jihan estava sentada rigidamente na ré, com as pernas e os braços cruzados e os olhos a abrirem dois buracos na nuca de Gabriel. Tinha absorvido a confissão dele num silêncio irado, uma mulher a ouvir o marido confessar a sua infidelidade. Por agora, ele não tinha mais nada a dizer. Era a vez de ela falar.
— Seu filho da mãe! — disse por fim.
— Já se sente melhor agora? — Gabriel disse essas palavras sem se virar para ela. Pelos vistos, Jihan não as achou dignas de resposta. — E se eu lhe tivesse contado a verdade no início? — perguntou ele. — O que tinha feito?
— Tinha-lhe dito para ir para o inferno.
— Porquê?
— Porque é igualzinho a eles.
Gabriel deixou passar uns instantes antes de responder.
— Tem todo o direito de estar zangada, Jihan. Mas não se atreva a comparar-me com o carniceirozinho de Damasco.
— Você é pior!
— Poupe-me às palavras de ordem. Porque se o conflito na Síria provou alguma coisa, foi que somos verdadeiramente diferentes dos nossos adversários. Cento e cinquenta mil mortos, milhões transformados em refugiados, tudo isto às mãos de irmãos árabes.
— Vocês fizeram a mesma coisa! — disparou ela imediatamente.
— Tretas! — Ainda não se tinha voltado para ela. — Pode ter dificuldade em acreditar — disse —, mas eu quero que os Palestinianos tenham um Estado deles. De facto, tenciono fazer tudo ao meu alcance para tornar isso realidade. Mas, por agora, não é possível. São precisos dois lados para se construir a paz.
— Vocês é que estão a ocupar a terra deles! — Gabriel não se deu ao trabalho de lhe dar resposta porque já tinha aprendido há muito tempo que aquelas discussões acabavam quase sempre por parecer um gato a perseguir a própria cauda. Preferiu desligar o motor e girar a cadeira para ficar de frente para ela. — Tire esse disfarce — disse ela. — Deixe-me ver-lhe a cara. — Ele tirou os óculos falsos. — E agora a peruca. — Fez o que lhe era pedido. Ela inclinou-se para a frente e olhou fixamente para a cara dele. — Tire as lentes de contacto. Quero ver-lhe os olhos.
Tirou as lentes, uma de cada vez, e atirou-as para o lago.
— Já está satisfeita, Jihan?
— Porque fala alemão tão bem?
— Os meus antepassados eram de Berlim. A minha mãe foi a única que sobreviveu ao Holocausto. Quando chegou a Israel, não sabia falar hebraico. O alemão foi a primeira língua que ouvi na vida.
— E a Ingrid?
— Os pais dela tiveram seis filhos, um por cada milhão assassinado no Holocausto. A mãe e duas irmãs foram mortas por um bombista suicida do Hamas. A Ingrid ficou gravemente ferida. É por isso que coxeia. É por isso que nunca usa calções ou vestidos.
— E qual é o nome verdadeiro dela?
— Não é importante.
— E qual é o seu?
— Que diferença faz isso? Você odeia-me por causa de quem sou. Odeia-me por causa daquilo que sou.
— Odeio-o porque me mentiu.
— Não podia fazer outra coisa. — O vento agitou-se e trouxe com ele o cheiro a rosas. — Nunca desconfiou mesmo que fôssemos de Israel?
— Desconfiei, sim — confessou.
— E porque não perguntou nada?
Ela não respondeu.
— Se calhar, não perguntou nada porque não queria saber a resposta. E, se calhar, agora que teve oportunidade para gritar comigo e chamar-me nomes, talvez possamos voltar ao trabalho. Vou transformar o carniceiro de Damasco num pobre. Vou fazer com que nunca mais volte a usar gás tóxico contra o próprio povo, que nunca mais transforme outra cidade num monte de ruínas. Mas não o posso fazer sozinho. Preciso da sua ajuda.
Fez uma pausa e depois perguntou:
— Vai ajudar-me, Jihan?
Ela estava a arrastar a mão pela água, como uma criança.
— Para onde vou quando isto acabar?
— Para onde acha?
— Nunca poderia viver aí.
— Não é tão mau como a levaram a acreditar. De facto, até é bastante bonito. Mas não se preocupe — acrescentou —, não terá de ficar muito tempo. Mal seja seguro ir-se embora, poderá viver onde bem quiser.
— E desta vez está a dizer-me a verdade ou isto é mais uma das suas mentiras? — Gabriel não disse nada. Jihan apanhou uma mão-cheia da água do lago e deixou-a escorrer por entre os dedos. — Vou fazê-lo — disse por fim. — Mas preciso que me faça uma coisa em troca.
— O que quiser, Jihan.
Olhou para ele em silêncio durante uns instantes. E depois disse:
— Preciso de saber como se chama.
— Não é importante.
— Para mim, é — respondeu ela. — Diga-me o seu nome ou pode arranjar outra pessoa para ir buscar esses documentos a Genebra.
— Não é assim que se fazem as coisas no nosso ramo.
— Diga-me o seu nome — repetiu ela. — Vou escrevê-lo na água e depois esquecê-lo.
Ele sorriu-lhe e disse-lhe o nome.
— Como o arcanjo? — perguntou ela.
— Sim — respondeu ele. — Como o arcanjo.
— E o apelido?
Disse-lho também.
— É-me familiar.
— E devia ser.
Jihan inclinou-se por cima da borda do barco e gravou o nome dele na superfície negra do lago. Uma rajada de vento soprou das montanhas do Inferno e apagou-o.
Depois de tudo ter terminado, Gabriel não seria capaz de se lembrar de muita coisa das vinte e quatro horas seguintes, pois foram um redemoinho de planos, exaltadas discussões em família e conversas tensas efetuadas por canais seguros. Na Avenida Rei Saul, o seu pedido urgente de mais propriedades seguras e de transporte igualmente seguro deu origem a uma curta revolta que Uzi Navot conseguiu reprimir com um olhar duro e palavras severas. Só a Divisão de Finanças não se indignou com o pedido de mais fundos por parte de Gabriel. A operação já estava a dar um lucro considerável, com ganhos surpreendentes previstos para o quarto trimestre.
Jihan Nawaz não iria saber nada das lutas intestinas que grassavam no Departamento, só das exigências da última missão que tinha de realizar por conta desse mesmo Departamento. Voltou à casa segura do Attersee no domingo à tarde para receber as instruções finais antes da operação e para treinar fotografar documentos sob pressão simulada com a marca única de Gabriel. Depois, juntou-se à equipa para uma refeição leve no relvado com vista para o lago. A falsa bandeira que haviam desfraldado desde que a tinham recrutado fora arriada e guardada para sempre. Agora, eram israelitas, agentes dos serviços secretos que a maioria dos árabes encarava com uma mistura paradoxal de ódio e admiração. Estava presente Yossi, o falso burocrata dos Serviços Tributários e Aduaneiros Britânicos, com o seu aspeto de académico. Estava a figurinha desgrenhada que a tinha abordado inicialmente como Feliks Adler. Estavam também Mikhail, Yaakov e Oded, os três guardiões dela nas ruas de Linz. E estava Ingrid Roth, a vizinha, a confidente com quem partilhava segredos dolorosos, que tinha sofrido uma perda que Jihan compreendia muitíssimo bem.
E na ponta mais afastada da mesa, silencioso e atento, estava o homem de olhos verdes cujo nome ela tinha escrito na água. Não era o monstro que a imprensa árabe retratava; nenhum deles o era. Eram encantadores. Eram espirituosos. Inteligentes. Amavam o seu país e o seu povo. Lamentavam profundamente o que acontecera a Jihan e à sua família em Hama. Sim, reconheciam, Israel tinha cometido erros desde a sua fundação, erros terríveis. Mas queria apenas viver em paz e ser aceite pelos vizinhos. A Primavera Árabe oferecera, por um período muito breve, a esperança de uma mudança no Médio Oriente, mas, infelizmente, voltara a ser um combate mortal entre sunitas e xiitas, entre os jihadistas globais e a velha ordem dos tiranos árabes. Claro, concordavam, havia um terreno intermédio, um Médio Oriente moderno onde os laços religiosos e tribais eram menos importantes do que um governo decente e o progresso. Durante algumas horas dessa tarde, na margem do Attersee, pareceu que tudo era possível.
Ela deixou-os pela última vez ao início da noite e, acompanhada pela amiga Ingrid, voltou para o apartamento. Nessa noite, foi apenas Keller quem a vigiou, pois o resto da equipa tinha começado uma apressada mudança do campo de batalha a que, mais tarde, um espirituoso do Departamento se referiria como a grande migração para ocidente. Gabriel e Eli Lavon seguiram juntos de carro, com Gabriel a guiar e Lavon a afligir-se e a atormentar-se, exatamente como já tinham feito mil vezes. Mas essa noite era diferente. O alvo não era um terrorista com sangue israelita nas mãos; eram muitos milhões de dólares que, legitimamente, pertenciam ao povo da Síria. Lavon, o caçador de ativos, mal conseguia esconder a excitação. Se deitassem a mão ao dinheiro do carniceiro, disse, podiam fazer dele o que bem quisessem. Podiam ser donos dele.
Chegaram a Genebra naquela hora incerta entre a escuridão e a alvorada e seguiram para um velho apartamento seguro do Departamento no Boulevard de Saint-Georges. Mordecai estivera lá antes e construíra, na sala, um posto de comando que incluía computadores e um rádio seguro. Gabriel enviou uma curta mensagem de ativação para o Centro de Operações na Avenida Rei Saul. Depois, pouco antes das sete da manhã, ouviu Waleed al-Siddiqi, que parecia cansado, a entrar no voo 411 da Austrian Airlines, no Aeroporto de Schwechat em Viena. Quando o avião estava a passar por cima de Linz, um grande carro preto encostou ao passeio à frente de um prédio de apartamentos nos arredores da Innere Stadt. E, cinco minutos mais tarde, Jihan Nawaz, a filha de Hama, saiu para a rua.
Durante as três horas seguintes, o mundo de Gabriel encolheu até aos trinta e oito centímetros luminosos do ecrã do computador. Não havia guerra na Síria, não havia Israel, não havia Palestina. A mulher não estava à espera de gémeos. De facto, não tinha mulher. Só havia as luzes vermelhas a piscar e que indicavam as posições de Jihan Nawaz e de Waleed al-Siddiqi e as luzes azuis a piscar e que indicavam as posições da equipa. Estava tudo em ordem, limpo, um mundo sem perigo. Parecia que nada podia correr mal.
Às oito e quinze, a luz vermelha de Jihan chegou ao Aeroporto de Schwechat em Viena e, às nove, apagou-se quando ela obedeceu respeitosamente às instruções dos assistentes de bordo para desligar todos os aparelhos eletrónicos. Foi então que Gabriel focou toda a atenção em Waleed-al-Siddiqi, que nessa altura estava a entrar na sede de um importante banco francês onde tinha depositado secretamente várias centenas de milhões de dólares em ativos sírios. O banco ficava numa parte elegante da Rue Saint-Honoré, no primeiro arrondissement. O grande carro preto de Al-Siddiqi permaneceu estacionado na rua. Uma equipa de vigilância do Departamento oriunda da Base de Paris tinha identificado o motorista como um ativo dos serviços secretos sírios em França — segurança, principalmente, mas, ocasionalmente, também envolvido em assuntos violentos. Gabriel pediu uma fotografia e, cinco minutos depois, foi recompensado com um instantâneo de um homem com um pescoço grosso, a apertar com um ar sombrio um volante luxuoso.
Às nove e dez da manhã, hora de Paris, Al-Siddiqi entrou no gabinete de Monsieur Gérard Beringer, um dos vice-presidentes do banco. O sírio não ficou muito tempo lá porque, às 9h17, recebeu uma chamada no telemóvel que o levou até ao corredor, à procura de privacidade. A chamada era de um número de Damasco; a voz de barítono do outro lado da linha era masculina, uma pessoa com autoridade. No fim da conversa — que durou apenas vinte segundos e foi efetuada no dialeto alauita do árabe sírio —, Al-Siddiqi desligou o telefone e a luz vermelha dele desapareceu do ecrã do computador.
Gabriel ouviu cinco vezes a gravação da conversa e não foi capaz de compreender exatamente o que estava a ser dito. Depois pediu uma tradução à Avenida Rei Saul e informaram-no de que o homem da voz de barítono tinha ordenado a Al-Siddiqi que lhe ligasse de um aparelho diferente. A análise da voz não encontrou nenhuma correspondência para a identidade da pessoa que ligara. Os que estavam à escuta na Unidade 8200 estavam a tentar identificar com precisão a localização do número em Damasco.
— As pessoas estão sempre a desligar os telemóveis — disse Eli Lavon. — Especialmente pessoas como o Waleed al-Siddiqi.
— É verdade — retorquiu Gabriel. — Mas, geralmente, fazem-no quando receiam que esteja alguém à escuta.
— E está alguém à escuta. — Gabriel não disse nada. Estava a olhar para o ecrã do computador como se estivesse a tentar convencer a luz de Al-Siddiqi a voltar a acender-se. — Provavelmente, o telefonema teve qualquer coisa que ver com o homem sentado no Hotel Métropole — disse Lavon passados uns momentos.
— É isso que me preocupa.
— Não é demasiado tarde para trocar as fichas, Gabriel. Podes fazer desaparecer oito mil milhões de dólares. E também podes fazer a rapariga desaparecer.
— E se ainda houver outros oito mil milhões de dólares por aí, Eli? E se houver oitenta mil milhões de dólares?
Lavon não disse nada durante uns instantes. Finalmente, perguntou:
— O que vais fazer?
— Vou analisar todas as razões que podem ter levado o Waleed al-Siddiqi a desligar o telefone. E depois vou tomar uma decisão.
— Infelizmente, não há tempo para isso.
Gabriel voltou a olhar para o computador. A filha de Hama tinha acabado de chegar a Genebra.
O átrio das chegadas do Aeroporto de Genebra estava mais apinhado de gente do que o habitual: diplomatas, jornalistas, polícias e seguranças adicionais, um grupo de exilados sírios a cantarem a canção de protesto escrita por um homem cuja garganta tinha sido cortada pela polícia secreta. Por causa disso, Jihan levou uns instantes a descobrir o motorista. Andava pelos trinta e tal anos, tinha cabelo escuro e pele morena e um ar demasiado inteligente para estar a trabalhar como motorista. O olhar dele voltou-se para Jihan quando ela se aproximou — era óbvio que lhe tinham mostrado uma fotografia — e exibiu um sorriso radioso, mostrando uma fila de dentes brancos e regulares. Dirigiu-se-lhe em árabe, com sotaque sírio.
— Espero que tenha feito uma boa viagem, Miss Nawaz.
— Foi boa — respondeu ela friamente.
— O carro está lá fora. Queira seguir-me, se faz favor.
Levantou uma mão bem tratada na direção da porta apropriada. O caminho que seguiram fê-los passar pelos manifestantes, que ainda estavam a cantar a canção de provocação, e por um israelita pequeno e entroncado que parecia capaz de dobrar barras de aço. Jihan olhou para o homem como se ele fosse invisível e saiu para o exterior. Um Mercedes preto, Classe S, com janelas com vidros muito escuros e matrícula diplomática, estava estacionado junto ao passeio. Quando o motorista abriu a porta de trás, do lado do passageiro, Jihan hesitou antes de entrar. Esperou que a porta voltasse a ser fechada e só depois virou a cabeça e olhou para o homem sentado ao lado dela. Era vários anos mais velho do que o motorista, com cabelo preto, que começava a rarear, um bigode imponente e mãos de um assentador de tijolos.
— Quem é o senhor? — perguntou Jihan.
— Segurança — respondeu ele.
— E por que razão preciso de segurança?
— Porque está prestes a encontrar-se com um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio. E porque há muitos inimigos do governo sírio em Genebra neste momento, incluindo aquela turba ali dentro — acrescentou com um movimento de cabeça na direção do edifício do terminal. — É importante que chegue ao seu destino em segurança.
O motorista sentou-se ao volante e fechou a porta.
— Yallah — disse o que estava sentado no banco de trás e o carro arrancou velozmente.
Foi só depois de terem saído do aeroporto que ele se deu ao trabalho de se apresentar. Disse que se chamava Omari. Era, pelo menos foi o que lhe disse, um segurança que ocupava cargos importantes nas delegações diplomáticas sírias na Europa Ocidental — um trabalho difícil, acrescentou com um cansado movimento de cabeça, dadas as tensões políticas daqueles tempos. Era evidente pela pronúncia que era alauita. Também era evidente que o motorista, que parecia não ter nome nenhum, estava a seguir tudo menos um percurso direto para o centro de Genebra. Percorreu uma zona industrial de edifícios baixos durante vários minutos, olhando constantemente para o espelho retrovisor, antes de tomar finalmente o caminho para a Route de Meyrin. Atravessaram um frondoso bairro residencial e acabaram por chegar à margem do lago. Enquanto atravessavam velozmente a Pont du Mont-Blanc, Jihan reparou que estava a apertar a carteira com tanta força que tinha os nós dos dedos brancos. Obrigou-se a descontrair a mão e sorriu levemente ao olhar pela janela para a linda cidade iluminada pelo sol. A visão de polícias suíços ao longo dos parapeitos da ponte deu-lhe uns momentos de conforto; e quando chegaram à margem do outro lado, viu o israelita com a cara marcada pelas bexigas a espreitar pela janela de uma loja Armani no Quai du Général-Guisan. O carro passou por ele e parou à frente da fachada verde-acinzentada do Métropole. Omari esperou uns instantes antes de falar.
— Presumo que o senhor Al-Siddiqi lhe tenha dito o nome do homem que está à sua espera lá em cima.
— Senhor Al-Farouk.
Ele assentiu com a cabeça solenemente.
— Está no quarto 312. Por favor, siga diretamente para o quarto dele. Não fale com o porteiro nem com ninguém no hotel. Estamos entendidos, Miss Nawaz?
Ela assentiu com a cabeça.
— Mal tenha os documentos, deve sair do quarto e voltar diretamente para o carro. Não faça paragens pelo caminho. Não fale com ninguém. Entendido?
Outro aceno com a cabeça.
— Mais alguma coisa? — perguntou ela.
— Sim — respondeu-lhe ele, estendendo a mão. — Por favor, dê-me o seu telemóvel assim como qualquer outro dispositivo eletrónico que tenha na carteira.
Passados dez segundos, a luz vermelha do telemóvel de Jihan desapareceu do ecrã do computador de Gabriel. Este comunicou rapidamente por rádio com Yaakov, que a tinha seguido para o interior do hotel, e mandou-o abortar a operação. Mas nessa altura, já era demasiado tarde; Jihan estava a deslocar-se pelo meio da multidão em passo rápido, como se estivesse numa parada, com o queixo erguido em desafio e a mala pendurada ao ombro. Depois esgueirou-se por entre as portas de um elevador que se estavam a fechar e desapareceu da vista dele.
Yaakov meteu-se rapidamente no elevador seguinte e carregou para o segundo andar. A viagem pareceu levar uma eternidade; e quando, finalmente, as portas se abriram, viu um segurança sírio de pé no vestíbulo, com as mãos entrelaçadas e os pés afastados à largura dos ombros, como se estivesse a preparar-se para um ataque frontal. Os dois homens trocaram um olhar longo e frio. Foi então que as portas se fecharam com uma sacudidela e o elevador desceu devagarinho para o átrio do hotel.
Ela bateu levemente — demasiado levemente, ao que parecia, porque durante vários longos segundos ninguém apareceu. Foi então que a porta recuou uns quantos centímetros e uns olhos escuros a observaram cautelosamente por cima da tranca de segurança. Os olhos pertenciam a mais outro segurança. Era mais parecido com o motorista de Jihan do que com o implacável senhor Omari, jovem, impecavelmente arranjado e vestido, um assassino num invólucro apresentável. Revistou-lhe minuciosamente a carteira para se certificar de que ela não tinha trazido uma pistola ou um colete de suicida. Depois convidou-a a segui-lo para a sala de estar da suíte luxuosa. Havia mais quatro seguranças exatamente como ele espalhados pelo perímetro; e, sentado no sofá, estava Kemel al-Farouk, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, antigo agente da Mukhabarat, amigo e conselheiro de confiança do presidente. Estava a equilibrar uma chávena e o respetivo pires numa das mãos e a abanar a cabeça perante qualquer coisa que um repórter da Al Jazeera estava a dizer na televisão. No sofá, à volta dele, e em cima da mesinha de apoio estavam espalhados vários dossiês. Jihan não conseguiu deixar de se interrogar sobre o que teriam. Documentos sobre a posição a tomar relativamente às conversações de paz iminentes? Uma descrição das vitórias recentes nos campos de batalha? Uma lista de figuras da oposição falecidas nos últimos tempos? Por fim, girou a cabeça uns quantos graus e, fazendo sinal com ela, convidou-a a sentar-se. Nem se levantou, nem lhe estendeu a mão. Homens como Kemel al-Farouk eram demasiado poderosos para se preocuparem com boas maneiras.
— É a primeira vez que vem a Genebra? — perguntou.
— Não — respondeu ela.
— Já cá esteve ao serviço do senhor Al-Siddiqi?
— Na verdade, foi de férias.
— Quando veio cá de férias, Jihan? — Sorriu repentinamente e perguntou: — Importa-se que a trate por Jihan?
— Claro que não, senhor Al-Farouk.
O sorriso desvaneceu-se. Voltou a perguntar-lhe quais as circunstâncias em que passara férias em Genebra.
— Era pequena — respondeu ela. — Na verdade, não me lembro de muita coisa.
— O senhor Al-Siddiqi disse-me que foi criada em Hamburgo.
Ela assentiu com a cabeça.
— É uma das grandes tragédias do nosso país, a grande diáspora síria. Quantos de nós se espalharam pelos quatro cantos do mundo? Dez milhões, quinze milhões? Se ao menos voltassem outra vez para casa. A Síria seria verdadeiramente uma grande nação.
Ela queria explicar-lhe que a diáspora nunca regressaria enquanto homens como ele estivessem a governar o país. Em vez disso, assentiu pensativamente, como se ele tivesse proferido palavras de grande perspicácia. Estava sentado à maneira do pai do presidente, com os pés bem apoiados no chão e as palmas das mãos nos joelhos. O cabelo muito curto tinha uma tonalidade avermelhada, tal como a barba muito bem aparada. Com o fato feito por medida e a gravata sóbria, era quase possível imaginar que era realmente um diplomata e não um homem que costumava crucificar os opositores para se divertir.
— Café? — perguntou, como se, subitamente, tivesse dado conta da sua falta de educação.
— Não, obrigada.
— Qualquer coisa para comer, talvez?
— Disseram-me para receber os documentos e ir-me embora, senhor Al-Farouk.
— Ah, sim, os documentos.
Pousou a mão num envelope de manilha ao lado dele, em cima do sofá.
— Gostou de crescer em Hamburgo, Jihan?
— Sim, suponho que sim.
— Havia muitos outros sírios lá, não havia?
Ela assentiu com a cabeça.
— Inimigos do governo sírio?
— Não faço ideia.
O sorriso dele dizia-lhe que não acreditava totalmente nela.
— Vivia na Marienstrasse, não vivia?
— Como sabe isso?
— Vivemos tempos difíceis — disse ele após uns momentos, como se a Síria estivesse a passar por um período de tempo inclemente. — Os meus seguranças dizem-me que nasceu em Damasco.
— É verdade.
— Em 1976. — Jihan assentiu vagarosamente com a cabeça. — Também foram tempos difíceis — disse ele. — Nessa altura, salvámos a Síria e agora vamos voltar todos a salvar a Síria.
Olhou para ela durante uns instantes.
— Quer que o governo sírio triunfe nesta guerra, não quer, Jihan?
Jihan levantou um pouco o queixo e olhou-o nos olhos.
— Quero a paz para o nosso país — respondeu.
— Todos queremos a paz — retorquiu ele. — Mas é impossível fazer a paz com monstros.
— Não poderia estar mais de acordo, senhor Al-Farouk.
Ele sorriu e pousou o envelope de manilha na mesa à frente dela.
— Quanto tempo falta para o seu avião partir? — perguntou.
Jihan deitou uma olhadela ao relógio de pulso e respondeu:
— Noventa minutos.
— Tem a certeza de que não quer café?
— Não, obrigada, senhor Al-Farouk — respondeu ela delicadamente.
— E qualquer coisa para comer?
Jihan forçou um sorriso.
— Como qualquer coisa no avião.
Durante uns minutos, naquela gloriosa manhã de segunda-feira em Genebra, o majestoso e antigo Hotel Métropole pareceu ser o centro do mundo civilizado. Carros pretos chegavam e partiam da entrada; diplomatas e banqueiros cinzentos entravam e saíam das portas. Um repórter famoso da BBC usou-o como pano de fundo para um direto. Um bando de manifestantes insultou o hotel por ter permitido que assassinos dormissem pacificamente sob o seu teto.
Dentro do hotel, reinava uma agitação silenciosa. Depois da breve visita ao segundo andar, Yaakov tinha-se precipitado para a última mesa livre no Mirror Bar e estava a olhar fixamente para os elevadores por cima de um café crème morno. Às 11h40, umas portas abriram-se com um sacão e Jihan apareceu repentinamente. Quando entrara no hotel uns minutos antes, trazia a carteira pendurada no ombro direito. Agora, estava no esquerdo. Era um sinal combinado previamente. Ombro esquerdo queria dizer que tinha os documentos. Ombro esquerdo queria dizer que não corria perigo. Yaakov comunicou rapidamente com Gabriel para lhe pedir instruções. Gabriel disse a Yaakov para a deixar seguir.
A equipa tinha o hotel rodeado dos quatro lados, mas ninguém se tinha dado ao trabalho de fazer uma cobertura fotográfica. Não interessava; mal Jihan saiu pela porta da frente, entrou no enquadramento da câmara da BBC. A imagem, transmitida em direto pelo mundo inteiro e guardada até hoje nos arquivos digitais da estação, foi a última que ficou registada dela. O rosto parecia calmo e resoluto; o andar era rápido e determinado. Fez uma pausa, como se estivesse confusa em relação a qual dos Mercedes estacionados fora do hotel era o dela. Foi então que um homem de trinta e tal anos lhe fez sinal e ela desapareceu no banco de trás desse carro. O homem de trinta e tal anos olhou de relance para os andares mais altos do hotel antes de se sentar ao volante. O carro afastou-se bruscamente do passeio e a filha de Hama desapareceu.
Entre os muitos aspetos da partida de Jihan que não foram captados pela câmara da BBC, encontrava-se o Toyota grande e prateado que a seguiu. No entanto, Kemel al-Farouk reparou no carro porque naquele momento estava à janela do quarto do hotel no segundo andar. Antigo agente dos serviços secretos, não conseguiu deixar de admirar a forma como o motorista do Toyota entrou no trânsito sem qualquer pressa ou urgência. Era um profissional; Kemel al-Farouk tinha a certeza disso.
Tirou um telemóvel do bolso, marcou um número e murmurou umas quantas palavras em código que informaram o homem do outro lado da linha de que estava a ser seguido. A seguir, desligou e ficou a ver o Jet d’Eau lançar uma torrente de água a grande altura por cima do lago. No entanto, os seus pensamentos estavam concentrados nos acontecimentos que se iriam seguir. Primeiro, o senhor Omari ia obrigá-la a falar. Depois, o senhor Omari ia matá-la. Prometia ser uma tarde divertida. Kemel al-Farouk só gostava de poder arranjar tempo na agenda ocupadíssima para ser ele a fazer isso.
No apartamento seguro do Boulevard de Saint-Georges, Gabriel estava parado à frente do computador, com uma mão apoiada no queixo e a cabeça inclinada para um lado, petrificado. Atrás dele, Eli Lavon andava devagar de um lado para o outro, com uma caneca de chá na mão, um escritor à procura do verbo perfeito. O rádio seguro dizia-lhes tudo o que havia para saber; o computador fornecia apenas provas que o corroboravam. Jihan Nawaz estava novamente em segurança no carro e o carro seguia para o Aeroporto Internacional de Genebra. Mikhail Abramov ia duzentos metros atrás, na Route de Meyrin, com Yossi a servir de navegador e de segundo par de olhos de confiança. Oded e Rimona Stern estavam a vigiar o terminal. O resto da equipa ia a caminho. Estava tudo a correr conforme planeado, com uma pequena exceção.
— E qual é? — perguntou Eli Lavon.
— O telefone dela — respondeu Gabriel.
— O que se passa com ele?
— Estou apenas a pensar por que razão o senhor Omari não lho devolveu.
Passou-se mais um minuto e a luz vermelha a piscar de Jihan continuou a não aparecer no ecrã. Gabriel levou o rádio aos lábios e ordenou a Mikhail que diminuísse a distância.
Mais tarde, durante o inquérito secreto que se seguiu aos acontecimentos em Genebra, surgiriam dúvidas em relação à hora exata em que Mikhail e Yossi tinham recebido a ordem de Gabriel. Acabaram todos por concordar que tinha sido às 12h17. Mas não havia dúvidas quanto à localização deles na altura; estavam a passar pelo bar e restaurante Les Asters, no número 88 da Route de Meyrin. Uma mulher de cabelo escuro encontrava-se na varanda do apartamento diretamente por cima do café. Um elétrico estava a aproximar-se lentamente deles. Era o número 14. Disso, Mikhail e Yossi tinham a certeza absoluta.
Também tinham a certeza absoluta de que o Mercedes que levava Jihan Nawaz ia uns cem metros à frente, deslocando-se a uma velocidade considerável. Tão considerável, de facto, que Mikhail estava com dificuldades notórias em conseguir reduzir o intervalo que separava os dois carros. Passou um sinal vermelho na Avenue Wendt e quase atropelou um peão temerário, mas não serviu de nada. O condutor do Mercedes estava a avançar pelo boulevard a toda a velocidade, como se receasse que Jihan pudesse perder o avião.
Por fim, quando se aproximavam do centro compacto da cidade de Genebra, Mikhail conseguiu carregar a fundo no acelerador. E foi nessa altura que uma carrinha comercial branca, completamente nova, sem nada que a identificasse, apareceu a abrir de uma estreita rua lateral. Mikhail teve menos de um segundo para pensar numa ação evasiva e, nesse período de tempo, concluiu que não havia opções disponíveis. Havia uma paragem de elétrico no centro do boulevard e trânsito intenso na direção dele, nas faixas em sentido contrário. O que não deixava outra alternativa a não ser carregar a fundo no travão ao mesmo tempo que girava o volante para a esquerda, uma manobra que pôs o carro a derrapar de forma dominada.
O condutor da carrinha também travou, bloqueando assim as duas faixas do boulevard. E quando Mikhail lhe fez sinal para se afastar, o condutor saiu da carrinha e começou a arengar furiosamente numa língua que parecia uma mistura de francês e árabe. Mikhail também saiu do carro e, durante uns curtos instantes, pensou em puxar da arma que trazia escondida. Mas não foi preciso; depois de um último gesto ordinário, o condutor da carrinha retrocedeu, entrou para a cabina e, sorrindo, saiu vagarosamente do caminho. O Mercedes tinha desaparecido e Jihan Nawaz tinha-se sumido oficialmente dos ecrãs dos radares.
O telemóvel que pertencia ao senhor Omari, nome próprio desconhecido, tocou duas vezes depois de terem saído do Hotel Métropole, uma vez quando estavam a atravessar a Pont du Mont-Blanc e novamente quando estavam a aproximar-se do aeroporto. Durante a primeira chamada, não disse nada; durante a segunda, emitiu pouco mais do que um grunhido antes de desligar. O telemóvel de Jihan estava ao lado dele, na consola central. Até ao momento, não tinha dado nenhuma indicação de que estivesse a pensar devolver-lho, nem agora nem nunca.
— Deve estar curiosa em relação à natureza desses documentos — disse passados uns momentos.
— De modo nenhum — respondeu ela.
— A sério?
Voltou-se e olhou para ela.
— Tenho dificuldade em acreditar nisso.
— Porquê?
— Porque a maior parte das pessoas sente uma curiosidade natural quando se trata dos assuntos financeiros de pessoas poderosas.
— Lido permanentemente com pessoas poderosas.
— Mas não como o senhor Al-Farouk — disse ele com um sorriso desagradável.
Depois continuou:
— Vá. Dê uma olhadela.
— Disseram-me para não o fazer.
Jihan permaneceu imóvel. O sorriso dele desapareceu.
— Olhe para os documentos — repetiu.
— Não posso.
— O senhor Al-Farouk acabou de me dizer que queria que você abrisse o envelope antes de entrar no avião.
— A não ser que ele mo diga, não posso fazer isso.
— Olhe para eles, Jihan. É importante.
Jihan tirou o envelope de manilha da carteira e estendeu-lho. Ele ergueu as mãos defensivamente, como se ela lhe estivesse a oferecer uma cobra venenosa.
— Não estou autorizado a vê-los — disse. — Só você.
Ela soltou a presilha de metal, levantou a dobra e tirou o molho de documentos. Tinha uns treze centímetros de espessura e estava preso com uma mola metálica. A primeira página estava em branco.
— Pronto — disse ela. — Já olhei para eles. Agora já podemos ir para o aeroporto?
— Olhe para a página seguinte — disse ele, voltando a sorrir.
Foi o que ela fez. Também estava em branco. E a terceira também. E a quarta. Foi então que levantou os olhos para o senhor Omari e lhe viu a arma na mão, apontada ao peito dela.
Às duas horas dessa tarde, a Conferência de Genebra sobre a Síria reuniu-se no quartel-general das Nações Unidas, na margem do lago. O soturno secretário de Estado americano exigiu uma transição pacífica do regime para a democracia, coisa que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria disse que nunca iria acontecer. Sem surpresa, a posição deste ganhou o apoio do homólogo russo, que avisou que o Kremlin vetaria qualquer tentativa, militar ou diplomática, para obrigar o único aliado no mundo árabe a abandonar o poder. No final da conferência, o secretário-geral das Nações Unidas considerou timidamente que as negociações tinham sido «um começo prometedor». Os meios de comunicação do mundo inteiro discordaram. Caracterizaram todo o episódio como um monumental desperdício de tempo e dinheiro, principalmente deles, e foram à procura de uma história verdadeira que pudessem cobrir.
No resto da encantadora cidadezinha, a vida continuava a correr com toda a normalidade. Os banqueiros exerciam o seu ofício ao longo da Rue du Rhône, os cafés da Cidade Velha enchiam-se e esvaziavam-se, aviões a jato brancos erguiam-se nos céus límpidos por cima do Aeroporto Internacional de Genebra. Entre os aviões que descolaram nessa tarde, estava o voo 577 da Austrian Airlines. A única irregularidade era a ausência de um único passageiro, uma mulher de trinta e nove anos, nascida na Síria e criada numa rua de Hamburgo que iria ficar para sempre ligada ao terrorismo islâmico. Dado o passado invulgar da mulher e os acontecimentos que estavam a ocorrer em Genebra nesse dia, a companhia aérea enviou um relatório para as autoridades de aviação suíças, que, por sua vez, enviaram a informação para os serviços secretos e de segurança suíços. Por fim, foi parar à secretária de Christoph Bittel, que, por coincidência, tinha sido destacado para comandar os serviços de segurança durante as negociações de paz sírias. Fez um pedido de informação rotineiro aos seus irmãos em Berlim e Viena e estes responderam-lhe muito rapidamente que não tinham informações. Mesmo assim, mandou uma cópia do ficheiro e da foto dela para a polícia de Genebra, para os serviços de segurança diplomáticos americanos e russos e até para os sírios. E depois ocupou-se de outros assuntos mais prementes.
Que a mulher não tivesse entrado no voo destinado a Viena causou uma preocupação significativamente maior aos dois homens no apartamento seguro do Boulevard de Saint-Georges. No espaço de poucos minutos, o seu estado de espírito tinha passado de uma confiança silenciosa a um desespero silencioso. Tinham-na recrutado, tinham-lhe mentido e depois tinham-se-lhe revelado. E agora, num piscar de olhos, tinham-na perdido. Mas, logo para começar, por que razão os monstros a teriam trazido para Genebra? E porque a teriam deixado entrar num quarto de hotel onde Kemel al-Farouk, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria e conselheiro de confiança do presidente, estava presente?
— Obviamente — disse Eli Lavon —, era uma armadilha.
— Obviamente? — perguntou Gabriel.
Lavon olhou para o ecrã do computador.
— Estás a ver alguma luz vermelha? — perguntou a Gabriel. — Porque eu não estou.
— Isso não quer dizer que fosse uma armadilha.
— Então o que quer dizer?
— Porquê apanhá-la durante a conferência de paz? Porque não a apanharam em Linz?
— Porque sabiam que a estávamos a vigiar e achavam que não o conseguiriam fazer de forma segura.
— Por isso, criaram uma desculpa para a trazer para Genebra? Uma coisa a que não conseguíssemos resistir? É isso que estás a dizer, Eli?
— Parece-te familiar?
— Onde queres chegar?
— É tal e qual como nós o teríamos feito.
Gabriel não estava convencido.
— Por acaso deste conta de algum agente dos serviços secretos sírios quando estávamos em Linz?
— Isso não quer dizer que não estivessem lá.
— Deste, Eli?
— Não — respondeu Lavon, abanando a cabeça. — Não posso dizer que sim.
— Nem eu — respondeu Gabriel. — E isso é porque o Waleed al-Siddiqi e a Jihan Nawaz eram os únicos sírios na cidade. Ela estava segura até o avião aterrar em Genebra.
— E o que aconteceu?
— O que aconteceu foi isto.
Gabriel carregou no ícone de play do computador e, passados uns segundos, ouviu-se a voz de Waleed al-Siddiqi a murmurar em árabe.
— O telefonema de Damasco? — perguntou Lavon.
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Se eu tivesse de arriscar um palpite — disse ele —, era alguém da Mukhabarat a dizer ao Waleed que contratara uma mulher de Hama para ser gestora de conta.
— Um grande erro.
— E é por isso que o Waleed telefonou ao Kemel al-Farouk para o Hotel Métropole para cancelar o encontro.
— Mas o Al-Farouk teve uma ideia melhor?
— Talvez a ideia tenha sido do Al-Farouk. Ou talvez do senhor Omari. O que interessa — acrescentou Gabriel — é que a única coisa que eles sabem é que ela mentiu em relação ao sítio onde nasceu.
— Algo me diz que não vão levar muito tempo a descobrir a verdade.
— Concordo.
— Então o que vais fazer?
— Um acordo, claro.
— Como?
— Assim.
Gabriel escreveu uma mensagem de três palavras para a Avenida Rei Saul e carregou no ENVIAR.
— Isso vai despertar-lhes a atenção — disse Lavon. — Agora só precisamos de alguém com quem negociar.
— Já temos uma pessoa, Eli.
— Quem?
Gabriel virou o computador para que Lavon pudesse ver o ecrã. Uma luz vermelha estava a piscar na Rue Saint-Honoré, no primeiro arrondissement de Paris. Waleed al-Siddiqi tinha ligado finalmente o telefone.
Uzi Navot tinha um corpo feito para usar a força e não para a velocidade. Mesmo assim, mais tarde, todos os que presenciaram a sua correria desvairada do Centro de Operações para a Sala 414C viriam a dizer mais tarde que nunca tinham visto um chefe a deslocar-se tão depressa. Bateu à porta com tanta força que parecia que a estava a tentar arrombar e, mal se viu lá dentro, correu direito ao terminal do computador que tinha sido reservado para o assalto.
— Ainda está tudo pronto para arrancar? — perguntou a ninguém em particular e, de algures na sala, veio a resposta de que estava tudo em ordem.
Navot inclinou-se e, com bastante mais força do que era preciso, carregou no botão. Eram 16h22 em Telavive, 15h22 em Genebra. E, no mundo inteiro, os alçapões desataram a abrir-se e o dinheiro começou a fluir.
Aproximadamente cinco minutos depois de terem atravessado a fronteira francesa, o senhor Omari arrastou uma Jihan aos gritos para dentro do porta-bagagens do carro. A tampa fechou-se sobre ela com um ruído forte e definitivo e o mundo tornou-se preto. Parecia Hama durante o cerco, pensou. Mas ali, na mala do carro, não havia explosões nem gritos que furassem a escuridão, apenas o zumbido enlouquecedor dos pneus no pavimento. Jihan imaginou que estava outra vez nos braços da mãe, agarrada com força ao hijab dela. Chegou mesmo a imaginar que conseguia sentir o perfume a rosas da mãe. Foi então que o fedor a gasolina se apoderou dela e a recordação do abraço da mãe se esvaiu, deixando apenas o medo. Sabia que destino a aguardava; já tinha visto aquilo tudo, durante os dias negros que se seguiram ao cerco. Ia ser interrogada. E, a seguir, ia ser morta. Não havia nada a fazer. Era a vontade de Deus.
A escuridão impossibilitava que Jihan visse o relógio e, por conseguinte, tivesse noção da passagem do tempo. Cantarolou por entre dentes para esconder o medo. Por breves instantes, pensou no agente secreto israelita cujo nome escrevera na superfície do Attersee. Nunca a iria abandonar; tinha a certeza disso. Mas tinha de se manter viva, fosse como fosse, durante o tempo necessário para ele a encontrar. Foi então que se lembrou de um homem que conhecera em Hamburgo quando era estudante universitária, um dissidente sírio que tinha sido torturado pela Mukhabarat. Sobrevivera, contara, porque tinha dito aos interrogadores coisas que achava que eles queriam ouvir. Jihan iria fazer a mesma coisa — não a verdade, claro, mas uma mentira tão irresistível que iriam querer ouvir todas as palavras. Não tinha qualquer dúvida de que era capaz de os enganar. Tinha passado toda a vida a enganar pessoas.
E por isso, enquanto estava ali deitada na escuridão, a estrada a correr velozmente por baixo dela, engendrou a história que esperava lhe fosse salvar a vida. Era a história de uma aliança improvável entre um homem poderoso e uma mulher jovem e solitária, uma história de ganância e logro. Reformulou o início, fez umas emendazinhas e reescreveu umas coisas aqui e ali, e, quando o carro parou finalmente, tinha terminado. Quando a tampa da bagageira se levantou, viu de relance a cara do senhor Omari antes de ele lhe enfiar um capuz na cabeça. Já estava à espera do capuz. O dissidente sírio tinha-lhe contado como a Mukhabarat gostava da privação sensorial.
Tiraram-na da mala do carro e fizeram-na atravessar uma zona de cascalho. A seguir, obrigaram-na a descer um lance de escadas tão íngremes que acabaram por desistir e a levar ao colo. Uns instantes mais tarde, atiraram-na para um chão de cimento como se fosse um morto da guerra. Depois ouviu uma porta a fechar-se ruidosamente, a que se seguiu o som de passos masculinos a afastarem-se. Deixou-se ficar deitada e imóvel durante vários segundos antes de, finalmente, arrancar o capuz da cabeça e descobrir que estava outra vez num local completamente escuro. Tentou não estremecer, mas não o conseguiu evitar. Tentou não chorar, mas as lágrimas não tardaram a manchar-lhe a cara. Depois pensou na história que inventara. A culpa era do senhor Al-Siddiqi, disse para consigo. Nada daquilo teria acontecido se o senhor Al-Siddiqi não lhe tivesse oferecido um emprego.
Como se veio a verificar, os dez génios dos computadores, conhecidos coletivamente como os minian, tinham-se enganado sobre o tempo que aquilo iria levar. O processo não levou cinco minutos mas pouco mais do que três. Por isso, às 16h25, hora de Telavive, 8,2 mil milhões de dólares dos ativos do presidente sírio estavam nas mãos do Departamento. Um minuto depois, Uzi Navot enviou uma mensagem flash a Gabriel, para o apartamento seguro de Genebra, confirmando que a transferência estava feita. Nesse momento, Gabriel ordenou uma segunda transferência: a transferência de 500 milhões de dólares para uma conta no TransArabian Bank, em Zurique. O dinheiro chegou às 15h29, hora local, quando o dono dessa conta, Waleed al-Siddiqi, se encontrava entalado na hora de ponta parisiense. Gabriel marcou o número do telemóvel do banqueiro, mas ninguém atendeu. Desligou, esperou outro minuto e voltou a marcá-lo.
Não a fizeram esperar muito, cinco minutos, não mais do que isso. Depois Jihan ouviu um punho a bater na porta e uma voz masculina mandou-a enfiar o capuz. Era o que estivera à espera dela no Aeroporto de Genebra; reconheceu-lhe a voz e o cheiro da maldita água-de-colónia passado um momento, quando ele a puxou com força para a pôr em pé. Guiou-a pelas escadas acima e depois por um chão de mármore. Jihan calculou que estava num grande espaço institucional qualquer porque os ecos dos seus próprios passos lhe chegavam de uma grande distância. Finalmente, o homem fê-la parar com um puxão e obrigou-a a sentar-se numa cadeira de madeira dura. E foi forçada a ficar ali sentada durante vários momentos, cega pelo capuz e por um medo avassalador do que estaria para vir. Perguntou para consigo quanto tempo teria de vida. Ou, se calhar, pensou, já estava morta.
Passou-se mais um minuto extremamente lento. Depois uma mão tirou-lhe o capuz, arrancando-lhe um caracol de cabelo ao mesmo tempo. À frente dela, estava o senhor Omari em mangas de camisa e com uma moca de borracha na mão. Jihan desviou os olhos e analisou o que a rodeava. Estavam no salão ostentoso de um grande château. Não um château, pensou de repente, mas um palácio. Parecia que tinha acabado de ser decorado, que ainda estava por habitar.
— Onde estou? — perguntou.
— Que importância é que isso tem?
Jihan olhou mais uma vez em redor da sala e perguntou:
— A quem pertence isto?
— Ao presidente da Síria — respondeu ele.
Fez uma pausa e acrescentou:
— O teu presidente, Jihan.
— Sou cidadã alemã. Não tem qualquer direito de me prender.
Os dois homens sorriram um para o outro. Depois, o senhor Omari pousou o telemóvel na mesinha decorativa ao lado da cadeira de Jihan.
— Liga para o teu embaixador, Jihan. Ou, melhor ainda — acrescentou —, porque não chamas a polícia francesa? Tenho a certeza de que aparecem dentro de um momento ou dois.
Jihan não se mexeu.
— Liga — exigiu ele. — O número de emergência em França é um, um, dois. Depois marca o dezassete para a polícia.
Ela esticou-se para o telefone, mas antes de o conseguir agarrar, a moca desceu com violência sobre as costas da mão como um martelo de forja. Dobrou-se ao meio instantaneamente e apertou a mão esmigalhada como se fosse um pássaro com uma asa partida. A seguir, a moca caiu-lhe em cima da nuca e ela estatelou-se, desamparada, no chão. Ficou deitada, enrolada defensivamente como uma bola, incapaz de se mexer, incapaz de emitir um único som além de um longo soluço de agonia. Então, é aqui que vou morrer, pensou. No palácio do presidente, numa terra que não é a minha. Ficou à espera da pancada seguinte, mas esta não veio. Em vez disso, o senhor Omari agarrou-lhe numa mão-cheia de cabelo e torceu-lhe a cara para a virar para ele.
— Se estivéssemos na Síria — disse —, teríamos muitos instrumentos à nossa disposição para te obrigar a falar. Mas aqui só temos isto — acrescentou, brandindo a moca de borracha. — Pode levar um bocado e de certeza que não terás um grande aspeto quando eu tiver acabado, mas vais falar, Jihan. Toda a gente fala.
Durante uns curtos instantes, não conseguiu dar-lhe uma resposta. Finalmente, conseguiu fazer uso da capacidade de falar.
— O que quer saber?
— Quero saber para quem trabalhas.
— Trabalho para Waleed al-Siddiqi, no Banco Weber AG, em Linz, na Áustria.
A moca atingiu-a de lado na cara. Pareceu cegá-la.
— Quem te seguiu até ao hotel em Genebra hoje de manhã?
— Não sabia que estava a ser seguida.
Desta vez, a moca acertou-lhe de lado no pescoço. Não teria ficado nada surpreendida se visse a própria cabeça rolar pelo chão de mármore do presidente.
— Estás a mentir, Jihan.
— Não estou a mentir! Por favor — suplicou —, não me volte a bater!
— Vou fazer-te uma pergunta simples, Jihan. Acredita em mim quando te digo que sei a resposta a esta pergunta. Se me disseres a verdade, não te acontece nada. Mas se mentires, não vai restar muito de ti quando eu tiver acabado.
Deu um abanão violento à cabeça dela.
— Estás a compreender-me, Jihan?
— Sim.
— Diz-me onde nasceste.
— Na Síria.
— Na Síria, onde?
— Hama — respondeu ela. — Nasci em Hama.
— E como se chamava o teu pai?
— Ibrahim Nawaz.
— Pertencia à Irmandade Muçulmana?
— Sim.
— E foi morto durante a revolta em Hama, em fevereiro de 1982?
— Não — respondeu Jihan. — Foi assassinado pelo regime em 1982, com os meus irmãos e a minha mãe.
Era evidente que o senhor Omari não estava interessado em ser picuinhas em relação ao passado.
— Mas tu, não — lembrou.
— Não — retorquiu ela. — Eu sobrevivi.
— E porque não contaste nada disso ao senhor Al-Siddiqi quando ele te contratou para trabalhares no Weber Bank?
— O que quer dizer?
— Não brinques comigo, Jihan.
— Não estou a brincar.
— Disseste ao senhor Al-Siddiqi que nasceste em Hama?
— Disse.
— Contaste ao senhor Al-Siddiqi que a tua família foi morta durante a revolta?
— Sim.
— E contaste-lhe que o teu pai era um Irmão Muçulmano?
— Claro — respondeu ela. — Contei tudo ao senhor Al-Siddiqi.
Foram precisas quatro tentativas antes de Waleed al-Siddiqi atender finalmente o telefone. Durante vários segundos, não disse nada, com a luz vermelha a bater como um coração nervoso no ecrã do computador de Gabriel. Depois, em árabe, perguntou:
— Quem é?
— Estou a ligar por causa de um problema com uma das tuas contas — disse Gabriel calmamente. — Na realidade, com várias das tuas contas.
— De que está a falar?
— Se eu fosse a ti, Waleed, ligava para o Dennis Cahill, do Trade Winds Bank, nas Ilhas Caimão, e perguntava-lhe se houve alguma atividade recente relacionada com as contas da LXR Investments. E, já agora, aproveitava também para ligar ao Gérad Beringer, o homem com quem acabaste de te encontrar na Société Générale. E depois, gostava que me ligasses. Tens cinco minutos. Despacha-te, Waleed. Não me faças esperar.
Gabriel desligou e pousou o telefone.
— Isso deve despertar-lhe a atenção — disse Lavon.
Gabriel olhou para o ecrã do computador e sorriu.
Waleed ligou para o Trade Winds e para a Société Générale. Depois ligou para o UBS, para o Credit Suisse, para o Centrum Bank do Lichenstein e para o First Gulf Bank do Dubai. Em cada instituição, ouviu a mesma história. Por fim, com dez minutos de atraso, ligou a Gabriel.
— Não vai conseguir safar-se com isto — disse.
— Já consegui.
— O que fez?
— Não fiz nada, Waleed. Foste tu quem roubou o dinheiro do presidente.
— De que está a falar?
— Acho que devias fazer mais um telefonema, Waleed.
— Para onde?
Gabriel disse-lhe. Depois interrompeu a ligação e aumentou o som do computador. Passados dez segundos, um telefone tocava no TransArabian Bank, em Zurique.
Trouxeram-lhe uma taça de água gelada para a mão. A taça era grande e de prata. O choque do frio entorpeceu-lhe bastante a dor, mas não a raiva que fervia dentro dela. Homens iguais a Omari tinham-lhe tirado tudo — a família, a vida, a cidade. Agora, ao fim de muito tempo, tinha a oportunidade de o confrontar. E talvez, pensou, de o vencer.
— Um cigarro? — perguntou ele e ela respondeu que sim, aceitaria outra simpática mercê do assassino.
Ele pôs-lhe um Marlboro entre os lábios entreabertos e acendeu-o. Ela deu uma passa e depois, desajeitadamente, tirou-o com a mão esquerda.
— Estás confortável, Jihan?
Ela tirou a mão direita da taça de água gelada, mas não disse nada.
— Isso não teria acontecido se me tivesses dito a verdade.
— Não me deu grande possibilidade.
— Estou a dar agora.
Jihan resolveu reagir com lentidão à pressa dele. Voltou a dar uma passa no cigarro e exalou uma nuvem de fumo em direção ao teto decorado do presidente.
— E se eu lhe disser o que sei? O que acontece depois?
— Podes ir embora à vontade.
— Ir embora para onde?
— A decisão é tua.
Voltou a enfiar a mão na água lentamente.
— Desculpe, senhor Omari — disse —, mas como pode imaginar não dou muito crédito a nada do que diga.
— Nesse caso, calculo que não tenha outro remédio senão partir-te a outra mão.
Outro sorriso cruel.
— E depois parto-te as costelas e os ossos todos da cara.
— O que quer de mim? — perguntou ela passados uns instantes.
— Quero que me digas tudo o que sabes sobre o Waleed al-Siddiqi.
— Nasceu na Síria. Ganhou muito dinheiro. Comprou uma participação num pequeno banco privado de Linz.
— E sabes por que razão ele comprou o banco?
— Usa-o como plataforma para investir dinheiro e esconder ativos para clientes poderosos do Médio Oriente.
— Sabes alguns nomes?
— Só um — respondeu ela, olhando em redor da sala.
— E como descobriste a identidade do cliente?
— Foi o próprio senhor Al-Siddiqi quem me disse.
— E porque havia ele de te dizer uma coisa dessas?
— Suponho que me queria impressionar.
— E sabes onde o dinheiro é investido?
— Zurique, Lichenstein, Hong Kong, Dubai, os sítios todos do costume.
— Então e os números das contas? Também os sabes?
— Não — respondeu ela, abanando a cabeça. — Só o senhor Al-Siddiqi sabe os números das contas.
Pousou a mão sobre o coração.
— Traz as informações aqui, num caderno de notas encadernado em pele preta.
O senhor Omari estava a preparar-se para perguntar a Jihan qual era a natureza da relação dela com Waleed al-Siddiqi quando o telemóvel vibrou suavemente. Escutou em silêncio durante uns instantes, soltou um grunhido e desligou a chamada. Depois fez um sinal com a cabeça ao jovem motorista e cúmplice, que enfiou o capuz preto na cabeça de Jihan e a levou, escadas abaixo, para a cela. E deixaram-na lá, com a mão a latejar e os pensamentos numa corrida desenfreada devido ao medo. Se calhar, já estava morta. Ou, se calhar, pensou, afinal sempre os tinha vencido.
Gabriel e Eli Lavon fizeram uma última viagem juntos, com Gabriel ao volante e Lavon no lugar do passageiro, enervado e preocupado como de costume. Seguiram para oeste, atravessando a fronteira francesa, e depois para sul, pela região rural da Alta Saboia, em direção a Annecy. Estava quase a anoitecer quando chegaram; Gabriel deixou Lavon ao pé da prefeitura e estacionou o carro perto da Igreja de Saint-François de Sales. Uma linda estrutura branca no molhe do rio Thiou fazia lembrar a Gabriel a Igreja de San Sebastiano, em Veneza. Espreitou para o interior, perguntando a si mesmo se iria ver um restaurador solitário parado à frente de um Veronese, e depois dirigiu-se para um café ali perto, chamado Savoie Bar. Era um sítio despretensioso, com uma ementa simples e umas quantas mesas dispostas sob um toldo cor de vinho. A uma das mesas, encontrava-se sentado Christopher Keller. Estava novamente com a cabeleira loura luxuriante e os óculos azuis de Peter Rutledge, o mestre ladrão de arte que nunca existiu. Gabriel sentou-se à frente dele e pousou o BlackBerry em cima da mesa; e quando, finalmente, um empregado se aproximou, pediu um café crème.
— Tenho de confessar — disse Keller passados uns instantes — que não esperava que esta acabasse assim.
— E como esperavas que acabasse, Christopher?
— Contigo a segurar o Caravaggio, claro.
— Não podemos ter tudo. Além disso, descobri uma coisa muito melhor do que o Caravaggio. E mais valiosa também.
— A Jihan?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— A rapariga que vale oito mil milhões de dólares — murmurou Keller.
— Oito vírgula dois — respondeu Gabriel. — Mas quem está a contar?
— E não tens mesmo dúvidas?
— Em relação a quê?
— A fazer um acordo.
— Nenhumas.
Nesse preciso momento, Eli Lavon passou por eles na praça e foi juntar-se a Yaakov no café na porta ao lado. Mikhail e Yossi estavam estacionados numa rua estreita chamada Rue Grenette. Oded estava a observar o carro de uma mesa na obrigatória tasca de kebabs.
— São bons rapazes — comentou Keller enquanto observava a praça. — Todos eles. Não tiveram culpa nenhuma. Dirigiste uma boa operação em Linz, Gabriel. Alguma coisa deve ter corrido mal no fim.
Gabriel não deu qualquer resposta a não ser olhar para o BlackBerry.
— Onde está ele? — perguntou Keller.
— A pouco mais de um quilómetro e meio a norte da cidade e a aproximar-se depressa.
— Acho que vou gostar disto.
— Algo me diz que o Waleed não vai achar o mesmo. — Gabriel voltou a pousar o BlackBerry em cima da mesa, olhou para Keller e sorriu. — Lamento ter-te metido nisto tudo — disse.
— Por acaso, não o teria perdido por nada deste mundo.
— Afinal, talvez ainda haja esperança para ti, Christopher. De facto, até conseguiste não matar ninguém desta vez.
— Tens a certeza de que não matámos ninguém?
— Ainda não.
Gabriel voltou a olhar para o BlackBerry. A luz vermelha a piscar tinha-se deslocado para dentro dos limites da cidade de Annecy.
— Continua a vir na nossa direção? — perguntou Keller. Gabriel assentiu com a cabeça. — Se calhar, devias deixar que fosse eu a tratar das negociações.
— E porque havia eu de fazer isso?
— Porque é capaz de não ser boa ideia deixar que vejam a tua cara. Afinal de contas — acrescentou Keller —, até este momento, não sabem que o Departamento está envolvido seja de que maneira for.
— A não ser que o tenham arrancado à Jihan à pancada. — Keller não disse nada. — Agradeço a oferta, Christopher, mas isto é uma coisa que tenho de ser eu a fazer. Além disso — acrescentou Gabriel —, quero que o carniceirozinho e os capangas dele saibam que estive por trás disto. Algo me diz que isso me vai facilitar o trabalho quando assumir a direção do Departamento.
— Não vais mesmo levar isto avante, pois não?
— Não tenho grande escolha no assunto.
— Todos escolhemos a vida que levamos. — Keller fez uma pausa e depois acrescentou: — Até eu.
Gabriel deixou que o silêncio se instalasse entre os dois.
— A minha oferta continua de pé — disse finalmente.
— Trabalhar para ti no Departamento?
— Não — respondeu Gabriel. — Podes trabalhar para o Graham Seymour no MI6. Ele dá-te uma nova identidade, uma nova vida. Podes voltar para casa. E, o mais importante, podes dizer aos teus pais que ainda estás vivo. O que lhes fizeste é uma coisa terrível. Se não gostasse tanto de ti, ia pensar que eras um verdadeiro…
— E achas que ia resultar? — perguntou Keller, interrompendo-o.
— O quê?
— Eu como agente do MI6?
— E porque não?
— Gosto de viver na Córsega.
— Então, ficas com uma casa lá.
— O dinheiro não ia ser, nem de perto nem de longe, tão bom.
— Pois não — concordou Gabriel —, mas tu já tens muito dinheiro.
— Ia ser uma grande mudança.
— Às vezes, uma mudança é bom.
Keller fingiu que estava a pensar.
— A verdade é que nunca gostei de matar pessoas, sabes? É apenas uma coisa em que sou bom.
— Sei exatamente como te sentes, Christopher.
Gabriel voltou a olhar para o BlackBerry.
— Onde está ele?
— Perto — respondeu Gabriel. — Muito perto.
— Onde? — tornou a perguntar Keller.
Gabriel indicou com a cabeça a Rue Grenette.
— Ali mesmo.
Era o mesmo Mercedes que o tinha levado para a reunião na Société Générale, conduzido pelo mesmo agente de Paris dos serviços secretos sírios. Mikhail enfiou-se no banco de trás e, com uma arma apontada à coluna do motorista, revistou Waleed al-Siddiqi minuciosa e invasivamente. Quando acabou, os dois homens saíram do Mercedes e ficaram parados no passeio enquanto o carro se afastava ao longo da rua. Depois, Mikhail escoltou Al-Siddiqi até ao outro lado da praça da igreja vazia e depositou-o na mesa do Savoie Bar onde Gabriel e Keller estavam sentados à espera. O sírio não tinha ar de quem se sentisse especialmente bem, mas isso não era surpresa. Os banqueiros que perdiam oito mil milhões de dólares numa única tarde raramente tinham.
— Waleed — disse Gabriel animadamente. — Foi simpático da tua parte teres vindo. Desculpa ter-te arrastado até aqui, mas é melhor fazer estas coisas cara a cara.
— Onde está o dinheiro?
— Onde está a minha rapariga?
— Não sei.
— Resposta errada.
— Estou a dizer a verdade.
— Dá-me o teu telefone.
O banqueiro sírio entregou-o. Gabriel abriu o registo de chamadas recentes e viu os números que Al-Siddiqi estivera a marcar freneticamente desde que descobrira que oito mil milhões de dólares que pertenciam ao presidente sírio tinham de repente desaparecido.
— Qual deles? — perguntou Gabriel.
— Esse — retorquiu o banqueiro, tocando no ecrã.
— E quem vai atender?
— Um cavalheiro chamado Omari.
— E como ganha esse cavalheiro a vida?
— Mukhabarat.
— E fez-lhe mal?
— Lamento dizê-lo, mas é isso que ele faz.
Gabriel marcou o número. Dois toques e depois uma voz.
— Senhor Omari, presumo?
— Quem fala?
— Chamo-me Gabriel Allon. Se calhar, já ouviu falar de mim.
Silêncio.
— Vou considerar que isso é um sim — disse Gabriel. — Agora, se tiver a amabilidade, queira passar o telefone à Jihan por uns instantes. Quero ter a certeza de que o senhor a tem realmente.
Houve um breve silêncio. A seguir, Gabriel ouviu o som da voz de Jihan.
— Sou eu — foi a única coisa que ela disse.
— Onde está?
— Não sei bem.
— Fizeram-lhe mal?
— Não foi assim tão mau.
— Aguente mais um bocadinho, Jihan. Já está quase em casa.
O telefone mudou de mãos. O senhor Omari voltou a surgir na linha.
— Para onde quer que vamos? — perguntou.
— Para a Rue Grenette, no centro de Annecy. Há um sítio ao pé da igreja chamado Chez Lise. Estacione à frente e espere pelo meu telefonema. E não se atreva sequer a tocar nela outra vez. Se o fizer, o objetivo da minha vida vai passar a ser encontrá-lo e matá-lo. Isto é só para ficarmos entendidos.
Gabriel interrompeu a ligação e devolveu o telefone a Al-Siddiqi.
— Bem me parecia que a tua cara não me era estranha — disse o sírio.
Olhou para Keller e acrescentou:
— E a dele também não. Aliás, até é muito parecido com um homem que estava a tentar vender um Van Gogh roubado em Paris há umas semanas.
— E tu foste suficientemente estúpido para o comprar. Mas não te preocupes — acrescentou Gabriel. — Não era o verdadeiro.
— E a Iniciativa Empresarial Europeia em Londres? Calculo que isso também tenha sido uma falsificação. — Gabriel não disse nada. — Os meus cumprimentos, Allon. Sempre ouvi dizer que tinhas uma mente criativa.
— Quantos tens, Waleed?
— Quadros?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Suficientes para encher um pequeno museu.
— Chegam para manter o estilo de vida a que a família do presidente está habituada — comentou Gabriel friamente —, só para o caso de alguém chegar a descobrir as contas bancárias.
— Sim — retorquiu o sírio. — Só para o caso.
— E onde estão os quadros agora?
— Aqui e ali — respondeu Al-Siddiqi. — Principalmente em caixas-fortes de bancos.
— E o Caravaggio?
— Não sei.
Gabriel inclinou-se ameaçadoramente sobre a mesa.
— Considero-me um tipo razoável, Waleed, mas o meu amigo, o senhor Bartholomew, é conhecido por ferver em pouca água. E também acontece que é uma das poucas pessoas no mundo que é mais perigosa do que eu, por isso, não é boa altura para te armares em parvo.
— Estou a dizer a verdade, Allon. Não sei onde está o Caravaggio.
— E quem foi a última pessoa que o teve?
— Isso é difícil de dizer. Mas se tivesse de arriscar um palpite, foi o Jack Bradshaw.
— E foi por isso que o mandaste matar.
— Eu? — Al-Siddiqi abanou a cabeça. — Não tive nada que ver com a morte do Bradshaw. Porque havia de o matar? Era a minha única ligação à parte desonesta do mundo da arte. Estava a planear usá-lo para vender os quadros se alguma vez viesse a precisar de arranjar dinheiro vivo rapidamente.
— Então quem o matou?
— Foi o senhor Omari.
— E por que razão um homem de nível intermédio na Mukhabarat ia matar uma pessoa como o Jack Bradshaw?
— Porque o mandaram.
— Quem?
— O presidente da Síria, claro.
Gabriel não queria que Jihan ficasse nas mãos dos assassinos nem mais um minuto do que o necessário, mas agora já não era possível recuar; tinha de saber. E por isso, enquanto a noite se adensava à volta deles e os sinos tocavam na torre da igreja, escutou atentamente enquanto o banqueiro explicava que nunca tencionaram usar o Caravaggio como fonte de dinheiro do submundo. A ideia era voltar a levá-lo às escondidas para a Síria, restaurá-lo e pendurá-lo num dos palácios do presidente. E quando o quadro desapareceu, o presidente teve um ataque de fúria violento. Depois ordenara ao senhor Omari, um respeitado agente da Mukhabarat e antigo guarda-costas de confiança do pai, que descobrisse para onde o quadro tinha ido. As buscas começaram na residência de Jack Bradshaw, no lago Como.
— Foi o Omari quem matou o Bradshaw? — perguntou Gabriel.
— E o falsificador dele também — respondeu Al-Siddiqi.
— Então e o Samir?
— Já não tinha qualquer utilidade.
E tu também não, pensou Gabriel. Depois perguntou:
— E agora onde está o Caravaggio?
— O Omari nunca conseguiu encontrá-lo. O Caravaggio desapareceu. Quem sabe? — acrescentou Al-Siddiqi com um encolher de ombros. — Talvez nunca tenha havido um Caravaggio.
Nesse preciso momento, um carro parou na Rue Grenette, um Mercedes preto com as janelas de vidros fumados. Gabriel agarrou no telemóvel de Al-Siddiqi e marcou o número. Omari atendeu imediatamente. Gabriel disse-lhe para passar o telefone a Jihan.
— Sou eu — disse ela outra vez.
— Onde estão? — perguntou Gabriel.
— Estacionados numa rua de Annecy.
— Estão perto de um restaurante?
— Sim.
— E como se chama?
— Chez Lise.
— Só mais uns minutos, Jihan. Depois já pode vir para casa.
A ligação foi interrompida. Gabriel entregou o telemóvel a Al-Siddiqi e explicou-lhe os termos do acordo.
Eram bastante simples: 8,2 mil milhões por uma mulher, menos 50 milhões para cobrir os custos da relocalização e segurança dela durante o resto da vida. Al-Siddiqi concordou sem negociações nem reservas. Para dizer a verdade, estava atónito com a generosidade da oferta.
— E para onde queres que mande o dinheiro? — perguntou Gabriel.
— Para o Gazprombank, em Moscovo.
— Número da conta?
Al-Siddiqi entregou a Gabriel um papel com o número lá escrito. Gabriel enviou-o para a Avenida Rei Saul e disse a Uzi Navot para carregar no botão uma segunda vez. Só foram precisos dez segundos. A seguir, o dinheiro desapareceu.
— Telefona ao teu homem no Gazprombank — disse Gabriel. — Ele vai dizer-te que os ativos do banco acabaram de aumentar muitíssimo.
Era meia-noite em Moscovo, mas o contacto de Al-Siddiqi estava sentado à secretária, à espera da chamada. Gabriel conseguiu ouvir-lhe a excitação na voz pelo telefone de Al-Siddiqi. Perguntou para consigo quanto do dinheiro iria ser tirado pelo presidente russo antes de o sírio conseguir transferi-lo para paragens mais seguras.
— Satisfeito? — perguntou Gabriel.
— Mas que impressionante — respondeu o banqueiro.
— Poupa-me os teus elogios, Waleed. Liga mas é para o senhor Omari e diz-lhe para abrir o raio da porta.
Trinta segundos depois, a porta abriu-se e um sapato confortável desceu na direção da rua. Depois, ela saiu numa mancha indistinta, com os óculos de sol à estrela de cinema a taparem-lhe as equimoses na cara e a mala pendurada ao ombro. Era o ombro esquerdo, reparou Gabriel, porque a mão direita estava demasiado envolta em ligaduras para servir para alguma coisa. Começou a atravessar a praça da igreja, com os saltos a ressoarem nas pedras da calçada, mas Mikhail levou-a rapidamente para um carro que estava à espera e ela desapareceu. Passado um momento, Al-Siddiqi ocupou o lugar dela no Mercedes e também desapareceu, deixando Gabriel e Keller sozinhos no café.
— Achas que fazem operações destas no MI6? — perguntou Keller.
— Só quando nós estamos envolvidos.
— Não estás arrependido?
— De quê, Christopher?
— Oito mil milhões de dólares por uma única vida.
— Não — respondeu Gabriel, sorrindo. — Foi o melhor acordo que já fiz.
Durante os nove dias que se seguiram, o mundo da arte girou suavemente no seu eixo dourado, ignorando ditosamente as riquezas perdidas que não tardariam a fluir na sua direção. Foi então que, numa tarde abafada no princípio de agosto, o diretor-geral do Rijksmuseum Vincent van Gogh anunciou que os Girassóis, óleo sobre tela, 95 centímetros por 73 centímetros, voltara para casa. O diretor recusou dizer onde a obra-prima tinha sido encontrada ao certo, embora, mais tarde, se viesse a saber que fora deixada num quarto de hotel em Amesterdão. O quadro não sofrera qualquer dano durante o longo cativeiro; de facto, disse o diretor-geral, até parecia melhor do que na altura do roubo. O chefe da polícia holandesa ficou com os créditos da recuperação, embora não tivesse tido rigorosamente nada que ver com isso. Julian Isherwood, presidente do Comité para a Proteção da Arte, emitiu um comunicado hiperbólico em Londres, falando de «um grande dia para a humanidade e tudo o que é honrado e belo neste mundo». Nessa noite, foi visto na mesa habitual no Green’s Restaurant, acompanhado por Amanda Clifton, da Sotheby’s. Mais tarde, todos os que lá estavam iriam descrever a expressão dela como de encantamento. Constou que Oliver Dimbleby estava a ferver de inveja.
Só Julian Isherwood, o ajudante secreto de espiões, e de um espião em especial, sabia que estavam para chegar mais objetos valiosos. Iria passar-se outra semana, o tempo suficiente, dir-se-ia mais tarde, para a euforia por causa dos Girassóis ter esmorecido. Foi nessa altura que, num palazzo creme no centro de Roma, o general Cesare Ferrari, da Brigada de Arte, destapou três quadros, desaparecidos há muito tempo e agora recuperados: A Sagrada Família, de Parmigianino, Raparigas no Campo, de Renoir, e o Retrato de Uma Mulher, de Klimt. Mas o general não ficou por aqui. Anunciou também a recuperação de Praia em Pourville, de Monet, e Mulher com Leque, de Modigliani, juntamente com obras de Matisse, Degas, Picasso, Rembrandt, Cézanne, Delacroix e uma que podia ser ou não um Ticiano. A conferência de imprensa foi conduzida com todo o estilo e toda a exuberância que caracterizavam o general Ferrari, mas, no entanto, talvez tivesse sido mais memorável por aquilo que o detetive italiano não disse — especificamente, onde e como qualquer uma daquelas obras de arte fora descoberta. Aludiu vagamente a uma grande e sofisticada rede de ladrões, contrabandistas e recetadores e deu a entender que estavam a chegar mais quadros. Depois, escondendo-se atrás da proteção dada por uma investigação ainda em curso, dirigiu-se para a porta, parando o tempo suficiente para responder às perguntas obrigatórias sobre as perspetivas de se encontrar o alvo número um da Brigada de Arte: a Natividade com São Francisco e São Lourenço de Caravaggio.
— É odioso usar a palavra nunca — disse com tristeza, e abandonou a sala.
Os acontecimentos em Amesterdão e Roma contrastavam com as notícias da Áustria, onde as autoridades estavam a tentar desvendar um tipo de mistério diferente: o desaparecimento de duas pessoas, um homem de cinquenta e poucos anos e uma mulher de trinta e nove, de Linz, a antiga cidade comercial no Danúbio. O homem era Waleed al-Siddiqi, sócio minoritário num pequeno banco privado. A mulher era Jihan Nawaz, a gestora de conta do banco. A circunstância de ambos serem da Síria alimentou a especulação de ter havido atividade criminosa, tal como os movimentos de Jihan Nawaz no dia do desaparecimento. Tinha viajado de Linz para Genebra, segundo as autoridades, onde as câmaras de segurança do Hotel Métropole a tinham fotografado a entrar no quarto de Kemel al-Farouk, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria e assessor e conselheiro muito próximo do presidente desse país. Isso levou, inevitavelmente, a que se especulasse que Miss Nawaz era uma agente dos serviços secretos sírios; com efeito, uma revista alemã, antigamente bem reputada, publicou um longo artigo a acusá-la de ser uma espia dos serviços secretos sírios. A história morreu dois dias depois quando um parente de Hamburgo admitiu que os formulários alemães para a imigração não estavam completamente corretos. Ela não nascera em Damasco, como tinha ficado registado, mas na cidadezinha de Hama, onde as forças do regime lhe tinham assassinado a família inteira, em fevereiro de 1982. Jihan Nawaz não era uma agente do regime, disse o parente, mas uma fervorosa opositora.
Essa revelação depressa deu origem à conjetura de que Jihan Nawaz tinha estado a trabalhar não para o governo sírio mas para um dos serviços secretos ocidentais. A teoria ganhou consistência quando informações biográficas adicionais sobre o patrão desaparecido foram sendo divulgadas lentamente à imprensa, informações que insinuavam que estivera envolvido na ocultação e gestão dos ativos financeiros do presidente sírio. Depois apareceu um relatório de uma respeitável empresa dedicada à segurança informática sobre uma série de transações financeiras detetada numa monitorização de rotina da Internet. Parecia que vários milhares de milhões de dólares tinham sido tirados de bancos importantes um pouco por todo o mundo e depois transferidos para uma única localização num período de tempo invulgarmente curto. A empresa nunca foi capaz de apresentar uma estimativa correta da quantidade de dinheiro em causa, nem foi capaz de identificar os responsáveis. No entanto, conseguiu descobrir rastos de código espalhados pelo mundo. Todos os que analisaram o código ficaram estupefactos com a sua sofisticação. Não era coisa de piratas informáticos vulgares, disseram, mas de profissionais que trabalhavam para um governo. Um perito comparou-o ao worm Stuxnet que fora inserido na rede informática do programa de armas nucleares iraniano.
Foi nessa altura que o clarão de um holofote não desejado recaiu sobre os serviços secretos instalados num incaracterístico prédio de escritórios em Telavive. Os peritos viram uma prova irrefutável, um elo perfeito de capacidade e motivação, e, por uma vez, os peritos tiveram razão. Mas nenhum deles iria alguma vez ligar os movimentos de dinheiro suspeitos à recuperação recente de várias obras-primas da pintura que tinham sido roubadas, ou ao homem de estatura e constituição médias, o sol no meio de estrelas pequenas, que voltou para uma igreja em Veneza, na terceira quarta-feira de agosto. A plataforma de madeira no cimo do andaime estava exatamente como a deixara vários meses atrás: frascos com produtos químicos, um maço de algodão hidrófilo, um molho de cavilhas, uma lupa, dois candeeiros com lâmpadas de halogéneo potentes. Enfiou um CD da ópera La Bohème na aparelhagem portátil suja de tinta e começou a trabalhar. Molhar, girar, deitar fora… Molhar, girar, deitar fora…
Havia dias em que estava morto por acabar e dias em que esperava nunca acabar. Esse estado de espírito caprichoso desenrolava-se à frente da tela. Às vezes, trabalhava com a lentidão de Veronese; outras, com a pressa irrefletida de Vincent, como se estivesse a tentar capturar a essência do tema antes que este murchasse e morresse. Felizmente, não havia ninguém para assistir às oscilações pendulares do seu estado de espírito. Os outros elementos da equipa tinham completado os respetivos trabalhos durante a sua longa ausência. Estava sozinho na casa de outra fé, de outro povo.
A operação raramente lhe abandonava os pensamentos durante muito tempo. Via-a na mente como uma série de naturezas-mortas, paisagens e retratos: o espião caído em desgraça, o ladrão de arte, o assassino a soldo, a filha de Hama a escrever o nome dele na superfície de um lago. A rapariga que valia oito mil milhões de dólares… Nunca se arrependeu, nem uma única vez, da decisão de entregar o dinheiro em troca da liberdade dela. O dinheiro podia ganhar-se e perder-se, ser encontrado e congelado. Mas Jihan Nawaz, o único membro sobrevivente de uma família assassinada, era insubstituível. Era um original. Era uma obra-prima.
A Igreja de San Sebastiano estava programada para abrir ao público no dia 1 de outubro, o que queria dizer que Gabriel não tinha outra alternativa senão trabalhar desde a alvorada até ao crepúsculo sem interrupções. Na maior parte dos dias, Francesco Tiepolo passava por lá ao meio-dia com um saco de cornetti e um termos de café acabado de fazer. Se Gabriel se estivesse a sentir caridoso, deixava que Tiepolo fizesse um bocadinho de reconstrução, mas, na maior parte dos dias, o italiano limitava-se a espreitar por cima do ombro de Gabriel, suplicando-lhe que trabalhasse mais depressa. E, invariavelmente, interrogava com suavidade Gabriel sobre os planos para o futuro.
— Estamos prestes a receber uma encomenda para uma coisa boa — disse uma tarde enquanto uma tempestade se abatia sobre a cidade. — Uma coisa importante.
— Importante a que ponto? — perguntou Gabriel.
— Não estou autorizado a dizê-lo.
— Igreja ou scuola?
— Igreja — respondeu Tiepolo. — E o retábulo tem o teu nome lá escrito. — Gabriel sorriu e continuou a pintar em silêncio. — Nem sequer te sentes tentado?
— Chegou a altura de ir para casa, Francesco.
— A tua casa é aqui — respondeu Tiepolo. — Devias criar os teus filhos em Veneza. E quando morreres, enterramos-te sob um cipreste, em San Michele.
— Não sou assim tão velho, Francesco.
— Mas também já não és assim tão novo.
— Não tens nada melhor para fazer? — perguntou Gabriel enquanto passava o pincel da mão direita para a esquerda.
— Não — respondeu Tiepolo, sorrindo. — O que poderia ser melhor do que ver-te a pintar?
Os dias ainda continuavam quentes e carregados de humidade, mas à noitinha, uma brisa da lagoa tornava a cidade tolerável. Gabriel ia buscar Chiara ao gabinete e levava-a a jantar. A meio de setembro, já estava de seis meses, tendo passado a altura em que era possível manter o segredo da gravidez em relação à pequena, mas tagarela, comunidade judaica. Gabriel achava que Chiara nunca estivera mais bonita. A pele resplandecia, os olhos cintilavam como pó dourado e, mesmo quando não se sentia confortável, parecia incapaz de ter outra expressão que não fosse um grande sorriso. Por natureza, era uma planeadora, uma fazedora de listas, e todas as noites, ao jantar, falava sem parar de todas as coisas que precisavam de fazer. Tinham decidido ficar em Veneza até à última semana de outubro, primeira de novembro, o mais tardar. Depois, voltariam para Jerusalém a fim de preparar o apartamento da Rua Narkiss para o nascimento das crianças.
— Eles vão precisar de nomes, sabes? — disse Gabriel, ao fim da tarde, quando passeavam ao longo da Zattere, ao lusco-fusco.
— A tua mãe tinha um nome lindo.
— Pois tinha — respondeu Gabriel. — Mas Irene não é propriamente um nome adequado para um rapaz.
— Então, se calhar, devíamos chamar Irene à rapariga.
— Boa ideia.
— E o rapaz?
Gabriel ficou calado. Era demasiado cedo para começar a escolher um nome para o rapaz.
— Falei com o Ari hoje de manhã — disse Chiara passado um momento. — Como deves imaginar, está um bocado ansioso para que voltemos a casa.
— Disseste-lhe que primeiro tenho de acabar o Veronese?
— Disse.
— E?
— Ele não compreende por que razão um retábulo vos há de manter separados numa altura destas.
— Porque o retábulo é capaz de ser o último que vou ter para restaurar.
— Se calhar — disse Chiara.
Caminharam em silêncio durante uns momentos. Gabriel perguntou:
— E como te pareceu ele?
— O Ari? — Ele assentiu com a cabeça. — Não muito bem, para dizer a verdade. — Olhou para ele com uma expressão séria e perguntou:
— Sabes alguma coisa que eu não saiba?
— A signadora disse-me que ele já não tem muito tempo.
— E disse-te mais alguma coisa que eu deva saber?
— Sim — respondeu ele. — Disse-me que não faltava muito.
Por essa altura, setembro já ia adiantado e Gabriel estava a ficar irremediavelmente atrasado.
Num gesto simpático. Tiepolo ofereceu-lhe um pequeno prolongamento do prazo, mas Gabriel recusou-o teimosamente; não queria que o último restauro na sua adorada cidade de água e quadros fosse lembrado apenas por não o ter conseguido acabar no tempo combinado. E, por isso, barricou-se na igreja sem nada que o distraísse e trabalhou com uma energia e uma velocidade que não teria pensado serem possíveis. Retocou a Virgem e o Menino Jesus num único dia e, na última tarde, arranjou a cara de um anjo menino de cabelo encaracolado que estava a espreitar por cima de uma nuvem celestial para a terra sofredora lá em baixo. O rapaz parecia-se demasiado com Dani e, enquanto trabalhava, Gabriel chorou de mansinho. Quando finalmente acabou, secou os pincéis e a cara e ficou parado à frente da tela enorme, com uma mão no queixo e a cabeça ligeiramente inclinada para o lado.
— Está acabado? — perguntou Francesco Tiepolo, que o observava da base do andaime.
— Sim — respondeu Gabriel. — Acho que está.
No canto noroeste do Campo di Ghetto Nuovo, encontra-se um pequeno e austero monumento de homenagem aos judeus de Veneza que, em dezembro de 1943, foram reunidos como gado, metidos em campos de concentração e assassinados em Auschwitz. O general Cesare Ferrari estava parado à frente dele quando Gabriel entrou na praça às seis e meia dessa tarde. Tinha a mão direita estropiada enfiada no bolso das calças. O olhar duro parecia mais crítico do que habitualmente.
— Não fazia ideia de que tinha acontecido aqui, em Veneza — disse depois de Gabriel se lhe ter juntado. — A rusga de Roma foi diferente. A de Roma foi demasiado grande para alguma vez poder ser esquecida. Mas aqui… — Olhou à volta da praça tranquila. — Não parece possível. — Gabriel ficou calado. O general avançou devagar e passou a mão defeituosa por uma das sete placas em baixo-relevo. — De onde foram tirados? — perguntou.
— Dali — respondeu Gabriel. — Apontou para o edifício de três andares à direita. O letreiro por cima da porta dizia casa israelitica di riposo. Era uma casa de repouso para os membros idosos da comunidade. — Quando a rusga acabou por acontecer — disse Gabriel passados uns instantes —, a maior parte dos judeus de Veneza já se tinha escondido. Os únicos que ainda restavam na cidade eram os velhos e os doentes. Foram arrancados das camas pelos alemães e pelos ajudantes italianos.
— E quantos vivem ali agora? — perguntou o general.
— Uns dez.
— Não são muitos.
— Não restam muitos.
O general voltou a olhar para o monumento.
— Não sei porque vive num sítio destes.
— Não vivo — respondeu Gabriel.
A seguir, perguntou ao general por que razão tinha voltado a Veneza.
— Tinha de supervisionar umas coisas no gabinete da Brigada de Arte aqui na cidade. E também quis assistir à reabertura da Igreja de San Sebastiano. — Fez uma pausa e depois acrescentou: — Ouvi dizer que o retábulo principal está espantoso. Obviamente, conseguiu acabá-lo.
— Com algumas horas de avanço.
— Mazel tov.
— Grazie.
— E agora? — perguntou o general. — Quais são os seus planos?
— Vou passar o próximo mês a tentar ser o melhor marido que conseguir. E depois vou voltar para casa.
— As crianças estão quase a nascer, não é verdade?
— Quase — respondeu Gabriel.
— Sendo pai de cinco, posso garantir-lhe que a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
No outro canto da praça, a porta do centro comunitário abriu-se e Chiara saiu para as sombras. Olhou para Gabriel e voltou a desaparecer na entrada do museu do gueto. O general pareceu não ter dado por ela; estava a olhar, de sobrancelhas franzidas, para a estrutura de metal verde, ao lado do monumento, onde um carabiniere fardado estava sentado atrás de um vidro à prova de bala.
— É uma vergonha que tenhamos de instalar um posto de segurança no meio deste sítio lindo.
— Infelizmente, não há nada a fazer dadas as circunstâncias.
— Porquê este ódio eterno? — perguntou o general, abanando a cabeça devagar. — Porque nunca acaba?
— Diga-me o senhor!
Tendo apenas o silêncio como resposta, Gabriel voltou a perguntar ao general por que razão tinha voltado a Veneza.
— Ando à procura de uma coisa há muito tempo — respondeu o italiano — e tinha esperança de que me pudesse ajudar a encontrá-la.
— E tentei — retorquiu Gabriel. — Mas parece ter-me escapado por entre os dedos.
— Ouvi dizer que até esteve muito perto.
O general baixou a voz e acrescentou:
— Mais perto do que percebeu.
— E como ouviu isso?
— Da maneira habitual. — O general olhou para Gabriel com uma expressão séria e perguntou: — Há alguma possibilidade de aceitar prestar declarações antes de sair do país?
— O que quer saber?
— Tudo o que aconteceu depois de ter roubado os Girassóis.
— Não os roubei. Pedi-os emprestados por sugestão do comandante da Brigada de Arte. E, por isso, a resposta é não — acrescentou Gabriel, abanando a cabeça. — Não me vou sentar para prestar declarações nenhumas, nem agora nem nunca.
— Então talvez possamos trocar impressões discretamente.
— Lamento, mas as minhas impressões são secretas.
— Ainda bem — respondeu o general, sorrindo. — Porque as minhas também são.
Atravessaram a praça na direção de um café kosher ao lado do centro comunitário e dividiram uma garrafa de Pinot Grigio enquanto a escuridão se ia adensando à volta deles. Gabriel começou por obrigar o general a aceitar uma omertà e ameaçou-o com represálias se essa jura de silêncio fosse alguma vez quebrada. A seguir, contou-lhe tudo o que acontecera desde a última vez que se tinham encontrado, começando pela morte de Samir Basara, em Estugarda, e acabando com a descoberta, e entrega final, de oito mil milhões de dólares em ativos pertencentes ao presidente da Síria.
— Calculo que isto tenha alguma coisa que ver com aqueles dois banqueiros sírios que desapareceram na Áustria — disse o general quando Gabriel acabou.
— Quais banqueiros sírios?
— Vou considerar que isso é um sim. — Bebeu um pouco do vinho. — Então, o Jack Bradshaw recusou-se a entregar o Caravaggio porque os sírios mataram a única mulher que ele amou? É isso que me está a dizer? — Gabriel assentiu lentamente com a cabeça e observou um par de estudantes yeshiva de casaco preto a atravessar a praça. — Agora já sei porque me obrigou a jurar que não referia o nome do Bradshaw durante a conferência de imprensa — estava a dizer o general. — Não queria que eu arrastasse o nome dele na lama postumamente. — Fez uma pausa e depois acrescentou: — Queria que ele descansasse em paz.
— Ele merece isso.
— Porquê?
— Porque o torturaram impiedosamente e ele não lhes disse o que tinha feito ao quadro.
— Acredita na redenção, Allon?
— Sou restaurador — respondeu Gabriel.
O general sorriu.
— E os quadros que descobriu no Freeport de Genebra? — perguntou. — Como os conseguiu tirar da Suíça tão discretamente?
— Com a ajuda de um amigo.
— Um amigo suíço?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Não sabia que tal coisa fosse possível. — Desta vez, foi Gabriel quem sorriu. Os estudantes yeshiva entraram num sottoportego e desapareceram. A praça estava vazia, excetuando duas crianças, um rapaz e uma rapariga, que estavam a atirar uma bola um ao outro sob o olhar atento dos pais. — A pergunta é — disse o general espreitando para dentro do copo de vinho — o que o Jack Bradshaw fez com o Caravaggio.
— Calculo que o tenha posto num sítio qualquer onde achava que ninguém o iria descobrir.
— Talvez — respondeu o general. — Mas não é isso que se diz por aí.
— E o que tem ouvido dizer?
— Que ele o deu a guardar a alguém.
— Alguém no lado desonesto do ramo?
— É difícil dizer. Mas como deve supor — acrescentou o general muito depressa —, agora há outras pessoas à procura dele. O que quer dizer que é imperativo que o encontremos primeiro. — Gabriel ficou calado. — Nem sequer se sente tentado, Allon?
— O meu envolvimento neste caso chegou oficialmente ao fim.
— Parece que, desta vez, está mesmo a falar a sério.
— E estou.
A família das quatro pessoas foi-se embora, deixando o campo deserto. O silêncio pesado parecia perturbar o general. Olhou para as luzes que brilhavam nas janelas da Casa Israelitica di Riposo e abanou a cabeça devagarinho.
— Não compreendo porque quer viver num gueto — disse.
— É um bairro simpático — respondeu Gabriel. — O mais simpático de Veneza, se quer a minha opinião.
Durante os vários dias que se seguiram, Gabriel raramente se afastou de Chiara. Fazia-lhe o pequeno-almoço todas as manhãs. Passava as tardes com ela no gabinete da comunidade judaica. Sentava-se no balcão da cozinha à noite e vigiava-a enquanto ela cozinhava. Ao princípio, Chiara ficou encantada com a atenção, mas, gradualmente, o simples peso dos carinhos intermináveis dele começou a enervá-la. Era, como diria mais tarde, um bocadinho de mel a mais para o gosto dela. Ainda chegou a pensar em pedir a Francesco Tiepolo um quadro que precisasse de ser restaurado — uma coisa pequena e que não estivesse demasiado danificada —, mas resolveu que o que deviam fazer era uma viagem. Nada demasiado extravagante e nenhum sítio que exigisse andar de avião. Dois dias, três, no máximo. Gabriel teve uma ideia. Nessa noite, telefonou a Christoph Bittel e pediu autorização para entrar na Suíça; e Bittel, que sabia bem qual a razão por que o seu recente amigo e cúmplice queria regressar à Confederação, concordou prontamente.
— É capaz de ser melhor que eu me encontre contigo — disse ele.
— Estava à espera que dissesses isso.
— Conheces a zona?
— Não — respondeu Gabriel, mentindo.
— Há um hotel à saída da cidade chamado Alpenblick. Estou lá à tua espera.
E foi assim que, muito cedo na manhã seguinte, Gabriel e Chiara saíram da sua adorada cidade de água e quadros e seguiram para o pequeno país interior de riquezas e segredos que tinha desempenhado um papel tão preeminente na vida deles. A meio da manhã, atravessaram a fronteira em Lugano e seguiram para norte, para os Alpes. Tempestades de neve sopravam pelas gargantas altas, mas quando chegaram a Interlaken, o sol brilhava intensamente num céu sem nuvens. Gabriel voltou a encher o depósito de gasolina e subiram o vale até Grindelwald. O Hotel Alpenblick era um edifício rústico que se erguia sozinho na periferia da povoação. Gabriel deixou o carro no pequeno parque de estacionamento do hotel e, com Chiara ao lado, subiu as escadas até ao terraço. Bittel estava a beber café e a olhar para os picos ameaçadores do Monch e do Eiger. Levantando-se, apertou a mão a Gabriel. Olhou para Chiara e sorriu.
— De certeza que tem um nome lindo, mas não vou cometer o erro de perguntar qual é.
Olhou de relance para Gabriel e continuou:
— Nunca me disseste que estavas prestes a ser pai outra vez, Allon.
— Por acaso — disse Gabriel —, ela é só a minha provadora da comida.
— Tenho muita pena.
Bittel sentou-se e mandou embora com um gesto um empregado que se aproximava. Depois apontou para o outro lado de um prado, na direção do sopé das montanhas.
— O chalé é ali — disse a Gabriel. — É um sítio bonito, com belas vistas, muito limpo e confortável.
— Tens futuro como agente imobiliário, Bittel.
— Gosto mais de proteger o meu país.
— Presumo que tenhas um posto de vigilância estático algures?
— Arrendámos o chalé ao lado — respondeu Bittel. — Temos dois agentes a tempo inteiro aqui e outros entram e saem conforme é preciso. Ela nunca vai a lado nenhum sem escolta.
— Alguma visita suspeita?
— Da variedade síria?
Gabriel assentiu com a cabeça.
— Temos de todos os tipos aqui, em Grindelwald — respondeu Bittel —, por isso é um bocadinho difícil dizer. Mas, até agora, ninguém se aproximou dela.
— E qual é o estado de espírito dela?
— Parece sozinha — respondeu Bittel com um ar sério. — Os guardas passam o máximo de tempo possível com ela, mas…
— Mas o quê, Bittel?
O polícia suíço sorriu tristemente.
— Posso estar enganado — disse —, mas acho que ela precisa de um amigo.
Gabriel levantou-se.
— Agradeço-lhes imenso terem aceitado recebê-la, Bittel.
— Era o mínimo que podíamos fazer para te compensar por teres limpado a porcaria no Freeport de Genebra. Mas devias ter-nos pedido autorização antes de montares aquela operação no Hotel Métropole.
— E tê-la-iam dado?
— Claro que não — retorquiu Bittel. — O que quer dizer que ainda terias oito mil milhões de dólares em dinheiro sírio na tua conta bancária.
Oito vírgula dois, pensou Gabriel enquanto se dirigia para o carro.
Mas quem estava a contar?
Gabriel deixou Chiara e Bittel no hotel e seguiu sozinho de carro para o prado. A casa ficava ao fundo de uma rua estreita, uma estrutura pequena e bem arranjada de madeira escura, com um telhado inclinado e vasos de flores na varanda, onde Jihan Nawaz apareceu quando Gabriel entrou no caminho relvado e desligou o motor. Trazia calças de ganga azuis e uma camisola de lã grossa. O cabelo estava mais comprido e mais claro; um cirurgião plástico tinha-lhe alterado a forma do nariz, das maçãs do rosto e do queixo. Não estava propriamente bonita, mas também já não tinha um aspeto vulgar. Instantes depois, quando saiu a correr pela porta da frente, trouxe com ela o aroma suave a rosas. Lançou-lhe os braços ao pescoço, abraçou-o com força e deu-lhe um beijo em cada face.
— Estou autorizada a tratá-lo pelo seu nome verdadeiro? — sussurrou-lhe ao ouvido.
— Não — respondeu-lhe ele. — Aqui, não.
— E quanto tempo pode ficar?
— O tempo que a Jihan quiser.
— Venha — disse ela, agarrando-lhe na mão. — Arranjei qualquer coisa para comermos.
O interior do chalé estava quente e confortável, mas não continha um único vestígio de que a pessoa que ali vivia tivesse uma família ou um passado, fosse ele qual fosse. Gabriel sentiu uma pontada de arrependimento. Devia tê-la deixado em paz. Waleed al-Siddiqi ainda estaria a gerir o dinheiro do pior homem do mundo e Jihan estaria a viver calmamente em Linz. E, no entanto, ela sabia o nome do cliente especial de Al-Siddiqi, pensou. E tinha continuado no banco por uma razão.
— Já vi essa expressão na sua cara — disse ela, observando-o atentamente. — Foi em Annecy, quando eu estava a sair da parte de trás do carro. Vi-o sentado no café do outro lado da praça. Parecia…
Deixou o pensamento por acabar.
— O quê? — perguntou ele.
— Culpado — respondeu ela sem a menor hesitação.
— E sentia-me culpado.
— Porquê?
— Nunca a deveria ter deixado entrar naquele hotel.
— A minha mão sarou muito bem — retorquiu ela, levantando-a como se quisesse justificar o que estava a dizer. — E as minhas feridas também sararam. Além disso, não foi nada comparado com aquilo que a maioria dos sírios sofreu desde que a guerra começou. Só tenho pena de não ter conseguido fazer mais.
— A sua guerra acabou, Jihan.
— Foi você quem me incitou a juntar-me à rebelião síria.
— E a nossa rebelião falhou.
— Pagou demasiado para me recuperar.
— Não estava com disposição para uma negociação prolongada — respondeu Gabriel. — Foi uma oferta do tipo pegar ou largar.
— Só gostava que pudesse ter visto a cara do senhor Al-Siddiqi quando descobriu que você tinha levado o dinheiro.
— Devo confessar que me regozijei um bocadinho de mais com o sofrimento dele — retorquiu Gabriel —, mas, Jihan, a sua cara era a única que eu queria ver naquele momento.
A seguir, ela voltou-se e levou-o para o jardim. Havia uma mesinha posta com café e chocolates suíços. Jihan sentou-se de frente para o chalé; Gabriel, para o maciço gigantesco e cinzento. Quando já estavam instalados, Gabriel quis saber da estada de Jihan em Israel.
— Passei as duas primeiras semanas fechada num apartamento em Telavive — disse ela. — Foi horrível.
— Fazemos o nosso melhor para que os nossos visitantes se sintam bem-vindos.
Jihan sorriu.
— A Ingrid veio ver-me algumas vezes — disse —, mas você não. Não me quiseram dizer onde estava.
— Infelizmente, tinha de tratar de outros assuntos.
— Outra operação?
— De certa maneira, sim.
Jihan encheu as chávenas de café.
— Por fim — continuou —, lá deixaram que eu e a Ingrid fizéssemos uma viagem juntas. Ficámos num hotel nos montes Golã. À noite, conseguíamos ouvir os tiros de artilharia e os ataques aéreos no outro lado da fronteira. A única coisa em que conseguia pensar era quantas pessoas estavam a ser mortas cada vez que o céu se enchia de luz. — Gabriel não deu qualquer resposta àquilo. — Li esta manhã nos jornais que os americanos estão a reconsiderar ataques militares contra o regime.
— Li a mesma coisa.
— E acha que eles o vão fazer, desta vez?
— Atacar o regime? — Ela assentiu com a cabeça. Gabriel não teve coragem de lhe dizer a verdade, por isso, disse-lhe uma última mentira. — Sim — respondeu. — Acho que o vão fazer.
— E o regime cai se os americanos o atacarem?
— É possível.
— Se isso acontecesse — disse ela passados uns instantes —, voltaria para a Síria para ajudar a reconstruir o país.
— Agora, o seu país é aqui.
— Não — respondeu. — Isto é o sítio onde eu me escondo dos carniceiros. Mas Hama será sempre a minha casa.
Uma súbita rajada de vento soprou-lhe um caracol do cabelo recentemente aclarado para a cara. Afastou-o e olhou para o outro lado do prado, em direção ao maciço. O sopé estava envolto numa sombra densa, mas os picos cobertos de neve estavam tingidos de cor-de-rosa pelo Sol a pôr-se.
— Adoro a minha montanha — disse Jihan repentinamente. — Faz-me sentir segura. Faz-me sentir que nada me pode acontecer.
— É feliz aqui?
— Tenho um nome novo, uma cara nova, um país novo. É o meu quarto país. É isto que significa ser síria.
— E judeu — disse Gabriel.
— Mas agora os judeus têm um país. — Ergueu a mão na direção do prado. — E eu tenho isto.
— E consegue ser feliz aqui?
— Sim — respondeu ela passado um longo momento. — Acho que consigo. Mas gostei muito do tempo que passámos juntos no Attersee, principalmente dos passeios de barco.
— Também eu.
Ela sorriu e depois perguntou:
— E você? É feliz?
— Quem me dera que não a tivessem magoado.
— Mas vencemo-los, não vencemos? Pelo menos, durante algum tempo.
— Sim, Jihan, vencemo-los.
A última luz desapareceu dos picos das montanhas e a noite caiu sobre o vale como uma cortina.
— Há uma coisa que nunca me disse.
— O quê?
— Como me encontrou?
— Não ia acreditar.
— E é uma história boa?
— Sim — respondeu ele. — Acho que sim.
— E como acaba?
Gabriel deu-lhe um beijo na face e deixou-a sozinha com o seu passado.
Gabriel e Chiara passaram as duas noites seguintes numa pequena estância junto aos lagos de Interlaken e depois saíram da Suíça pelo mesmo percurso que tinham feito antes. Nas gargantas das montanhas, Gabriel recebeu uma mensagem segura da Avenida Rei Saul a mandá-lo ligar o rádio; e, enquanto atravessavam a fronteira italiana em Lugano, ficou a saber que Kemel al-Farouk, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, antigo agente da Mukhabarat, amigo e conselheiro de confiança do presidente sírio, fora morto numa explosão misteriosa em Damasco. Tinha sido uma operação de Uzi Navot, mas em muitos aspetos era o primeiro assassínio da era Allon. Não sabia bem porquê, mas desconfiava que não seria o último.
Estava a chover quando chegaram a Como. Gabriel devia ter seguido pela autostrada até Milão, mas, em vez disso, tinha seguido pela estrada serpenteante por cima do lago até chegar mais uma vez ao portão pesado da villa de Jack Bradshaw. O portão estava muito bem fechado; ao lado, havia uma tabuleta que dizia que a propriedade estava à venda. Gabriel ficou ali parado durante uns momentos, com as mãos no volante, a pensar no que devia fazer. Ligou para Roma para falar com o general Ferrari, pediu-lhe o código de segurança e introduziu-o no teclado. Passados uns segundos, o portão abriu-se. Gabriel meteu a primeira e o carro avançou pelo caminho de entrada.
A porta também estava fechada à chave. Gabriel abriu-a com uma fina haste de metal que trazia habitualmente na carteira e levou Chiara para o átrio de entrada. Pairava no ar um cheiro pesado a falta de uso, mas o sangue tinha sido esfregado do chão de mármore. Chiara experimentou o interruptor; o candelabro onde Jack Bradshaw estivera pendurado iluminou-se. Gabriel fechou a porta e dirigiu-se para o salão.
As paredes tinham sido despojadas de todas as obras de arte e acabadas de pintar; parte da mobília fora tirada para criar a ilusão de um espaço maior. Mas não a linda escrivaninha antiga de Bradshaw. Estava no mesmo sítio onde estivera antes, embora as duas fotografias de Bradshaw antes da queda em desgraça tivessem sido removidas. O telefone multilinhas continuava lá, coberto por uma fina camada de pó. Gabriel levou o auscultador ao ouvido. Não ouviu nenhum som de marcação. Voltou a pousá-lo no descanso e olhou para Chiara.
— Porque estamos aqui? — perguntou ela.
— Porque aquilo esteve aqui.
— Talvez — disse ela.
— Talvez — concedeu ele.
Nos dias que se seguiram à descoberta inicial de Gabriel, a Brigada de Arte do general Ferrari tinha desfeito a villa de Jack Bradshaw à procura de mais quadros roubados. Era improvável que uma tela com dois metros e treze centímetros por dois metros e quarenta e três centímetros lhes tivesse escapado por alguma razão. Mesmo assim, Gabriel queria dar uma última vista de olhos, quando mais não fosse por descargo de consciência. Passara os últimos e vários meses da vida à procura da mais famosa obra-prima mundial perdida. E até à altura tudo o que tinha conseguido eram uns quantos quadros roubados e um assassino sírio morto.
E assim, enquanto a luz do dia se desvanecia naquela tarde de outono, revistou a casa de um homem que nunca tinha visto, com a mulher grávida ao lado — divisão a divisão, armário a armário, aparador a aparador, gaveta a gaveta, espaços onde só se podia rastejar, condutas de ar, o sótão, a cave. Examinou cuidadosamente as paredes à procura de argamassa aplicada recentemente. Examinou as tábuas do soalho à procura de cabeças de pregos limpas. Examinou o jardim à procura de terra revolvida não há muito tempo. Até que, por fim, cansado, frustrado e sujo de terra, deu por si parado de novo à frente da escrivaninha de Bradshaw. Levou o telefone ao ouvido, mas, sem surpresa, continuava a não haver sinal. Tirou o BlackBerry da algibeira do casaco e marcou um número de memória. Segundos depois, uma voz masculina respondeu em italiano.
— Está a falar com o padre Marco — disse ele. — Em que o posso ajudar?
A Igreja de San Giovanni Evangelista era pequena e branca e destacava-se claramente na rua. À direita, estendia-se uma vedação de ferro forjado, atrás da qual ficava o pequeno jardim do presbitério. O padre Marco estava à espera ao portão quando Gabriel e Chiara chegaram. Era novo, trinta e cinco anos no máximo, com uma farta cabeleira de cabelo escuro e bem penteado e uma cara que parecia ansiosa por perdoar todos os pecados.
— Bem-vindos — disse, apertando-lhes a mão à vez. — Façam o favor de me acompanharem.
Levou-os pelo caminho do jardim até à cozinha do presbitério. Era um espaço arrumado, com paredes caiadas de branco, uma mesa de madeira rústica e latas de comida dispostas em prateleiras abertas. O único luxo era uma máquina de café expresso que o padre Marco utilizou para preparar três chávenas de café.
— Lembro-me do dia em que me telefonou — disse ao pôr o café à frente de Gabriel. — Foi dois dias depois de o Signor Bradshaw ser morto, não foi?
— Foi — respondeu Gabriel. — E, por qualquer razão, desligou-me o telefone duas vezes antes de aceitar a minha chamada.
— Já alguma vez recebeu algum telefonema de um homem que tivesse acabado de ser brutalmente assassinado, Signor Allon?
O padre sentou-se à frente de Gabriel e pôs açúcar no café.
— Foi uma experiência perturbadora, no mínimo.
— Parece que tiveram bastante contacto por altura da morte dele.
— Sim.
— Antes e depois.
— A julgar pelo que li nos jornais — disse o padre —, provavelmente telefonei para a villa quando ele estava pendurado no candelabro. É uma ideia horrível.
— Era um paroquiano daqui?
— O Jack Bradshaw não era católico — respondeu o padre. — Foi educado na Igreja de Inglaterra, mas não tenho a certeza de que fosse realmente crente.
— Eram amigos?
— Acho que sim. Mas eu era sobretudo o confessor dele. Não no verdadeiro sentido da palavra — acrescentou o padre rapidamente. — Na verdade, não podia dar-lhe a absolvição pelos crimes dele.
— Estava perturbado na altura em que morreu?
— Profundamente.
— E disse-lhe porquê?
— Disse-me que tinha qualquer coisa que ver com os negócios dele. Era consultor de qualquer coisa. — Esboçou um sorriso em jeito de desculpa. — Lamento, Signor Allon, mas não sou muito conhecedor no que se refere a assuntos de negócios e finanças.
— Já somos dois.
O padre voltou a sorrir e mexeu o café.
— Ele costumava sentar-se no sítio onde está sentado agora. Trazia uma cesta de comida e vinho e conversávamos.
— Sobre quê?
— O passado dele.
— E o que lhe contou ele?
— O suficiente para eu ficar a saber que estava envolvido num trabalho secreto qualquer para o governo dele. Aconteceu-lhe qualquer coisa há muitos anos quando estava no Médio Oriente. Mataram uma mulher. Creio que era francesa.
— Chamava-se Nicole Devereaux.
O padre ergueu os olhos com perspicácia.
— Foi o Signor Bradshaw quem lhe disse isso?
Gabriel sentiu-se tentado a responder afirmativamente, mas não tinha vontade de mentir a um homem com colarinho e sotaina romanos.
— Não. Nunca o conheci.
— Acho que teria gostado dele. Era muito inteligente, mundano, divertido. Mas também carregava um pesado fardo de culpa por causa do que aconteceu à Nicole Devereaux.
— Falou-lhe do caso deles?
O padre hesitou e depois assentiu com a cabeça.
— Pelos vistos, amava-a muito e nunca se perdoou pela morte dela. Nunca casou, nunca teve filhos. De certo modo, vivia como um padre. — Olhou em redor da divisão e acrescentou: — Mas de uma forma mais magnificente, claro.
— Esteve na villa?
— Muitas vezes. Era muito bonita. Mas não dizia muito sobre como o Signor Bradshaw era realmente.
— E como era ele realmente?
— Extremamente generoso. Sozinho, mantinha esta igreja a funcionar. Também dava com liberalidade para as nossas escolas, os nossos hospitais e programas para alimentar e vestir os pobres.
O padre sorriu com tristeza.
— E depois houve o nosso retábulo.
Gabriel olhou para Chiara, que estava a depenicar distraidamente com os dedos na superfície do tampo da mesa como se não estivesse a prestar-lhes atenção. Depois voltou a olhar para o jovem padre e perguntou:
— O que se passou com o retábulo?
— Foi roubado há cerca de um ano. O Signor Bradshaw despendeu imenso tempo a tentar recuperá-lo. Mais tempo do que a polícia — acrescentou o padre. — Lamento dizê-lo, mas o nosso retábulo tinha pouco valor artístico ou monetário.
— E ele conseguiu encontrá-lo?
— Não — respondeu o padre. — Por isso, substituiu-o por um da coleção particular dele.
— E quando foi isso? — perguntou Gabriel.
— Infelizmente, poucos dias antes de ele morrer.
— E onde está o retábulo agora?
— Ali — respondeu o padre, inclinando a cabeça para a direita. — Na igreja.
Entraram por uma porta lateral e atravessaram rapidamente a nave até à capela-mor. Uma mesinha de velas votivas lançava uma luz vermelha tremeluzente sobre o nicho que continha uma imagem de São João, mas o retábulo estava invisível na obscuridade. Mesmo assim, Gabriel conseguiu ver que as dimensões eram aproximadamente certas. A seguir, ouviu o estalido de um interruptor e, na explosão repentina de luz, viu uma crucificação ao estilo de Guido Reni, executada com competência, mas pouca inspirada, que não valia bem o prémio do vendedor. Sentiu um baque no coração. Então, calmamente, olhou para o padre e perguntou:
— Tem um escadote?
Numa empresa de produtos químicos numa zona industrial de Como, Gabriel comprou acetona, álcool, água destilada, óculos, uma proveta e uma máscara protetora. Parou numa loja de material de artes e ofícios, no centro da cidade, onde comprou cavilhas de madeira e um pacote de algodão hidrófilo. Quando voltou para a igreja, o padre Marco tinha desencantado uma escada de mão com seis metros de altura e montara-a à frente do quadro. Gabriel misturou rapidamente uma solução básica de solvente e, agarrando numa cavilha e num maço de algodão, trepou a escada. Com Chiara e o padre a observarem lá em baixo, abriu uma janela no centro do quadro e viu a mão de um anjo, muito danificada, a agarrar uma fita de seda branca. A seguir, abriu uma segunda janela, aproximadamente uns trinta centímetros mais abaixo na tela e uns centímetros para a direita, e viu a cara de uma mulher exausta por causa do parto. A terceira janela revelou uma outra cara — a cara de um recém-nascido, um rapaz, iluminado por uma luz celestial. Gabriel pousou delicadamente as pontas dos dedos na tela e, para sua grande surpresa, começou a chorar desgovernadamente. Depois fechou os olhos com toda a força e soltou um grito de alegria que ecoou pela igreja vazia.
A mão de um anjo, uma mãe, uma criança…
Era o Caravaggio.
O Assalto é uma obra de ficção e deve ser lido apenas como tal. Os nomes, personagens, lugares e incidentes descritos nesta história são produto da imaginação do autor ou foram ficcionados. Qualquer semelhança com pessoas, vivas ou mortas, negócios, empresas, acontecimentos ou locais verdadeiros é pura coincidência.
Existe de facto uma Igreja de San Sebastiano no sestiere de Dorsoduro — foi consagrada em 1562 e é considerada uma das cinco grandes igrejas da peste em Veneza — e o retábulo principal, A Assunção da Virgem, surge fielmente descrito. Quem visitar a cidade procurará em vão a empresa de restauro de Francesco Tiepolo, tal como também não encontrará um tal rabi Zolli, no antigo gueto judeu. Há vários pequenos prédios de apartamentos, em pedra calcária, na Rua Narkiss, em Jerusalém, mas tanto quanto sei não vive por lá ninguém chamado Gabriel Allon. O quartel-general dos serviços secretos israelitas já não fica na Avenida Rei Saul, em Telavive. Escolhi manter lá o quartel-general dos meus serviços secretos ficcionados em parte por sempre ter gostado do nome da rua.
Existem muitos ótimos antiquários e galerias de arte na Rue de Miromesnil, em Paris, mas as Antiquités Scientifiques não são um deles. Maurice Durand já apareceu em três romances de Gabriel Allon, mas continua a não existir. Tal como Pascal Rameau, o cúmplice oriundo do submundo criminoso de Marselha. O quartel-general da Divisão de Defesa do Património Cultural, dos Carabinieri, mais conhecida como Brigada de Arte, fica realmente num palazzo elegante na Piazza di Sant’Ignazio, em Roma. Mas o comandante é o competente Mariano Mossa e não Cesare Ferrari, só com um olho. As minhas mais profundas desculpas ao Rijksmuseum Vincent van Gogh de Amesterdão por me ter apropriado dos Girassóis, parte da sua esplendorosa coleção, mas às vezes a melhor maneira de encontrar uma obra-prima roubada é roubar outra.
Não há nenhuma Igreja de San Giovanni Evangelista em Brienno, na Itália. Por isso mesmo, a gloriosa Natividade de Caravaggio, roubada do Oratorio di San Lorenzo de Palermo, em outubro de 1969, não podia ter sido descoberta exposta sobre o altar, disfarçada de uma crucificação à maneira de Guido Reni. O relato da vida turbulenta de Caravaggio que aparece em O Assalto é completamente factual, embora haja quem possa discordar das minhas opções em relação às datas e aos pormenores de determinados acontecimentos, já que ocorreram há quatro séculos e se encontram, por isso, abertos à interpretação. Ainda hoje, as circunstâncias exatas da morte de Caravaggio continuam envoltas em mistério. Tal como o paradeiro da Natividade. A cada ano que passa, as probabilidades de se descobrir a grande tela intacta tornam-se mais remotas. E não há forma de minimizar o impacte dessa perda. Caravaggio viveu apenas trinta e nove anos e deixou menos de cem obras que lhe podem ser atribuídas com segurança. O desaparecimento de um só quadro bastaria para abrir um buraco impossível de preencher no cânone ocidental.
Não existe nenhuma empresa registada no Luxemburgo que dê pelo nome de LXR Investments, nem um banco privado em Linz que seja conhecido como Bank Weber AG. Os bancos austríacos já foram dos mais sigilosos do mundo — mais sigilosos até do que os bancos suíços. Mas, em maio de 2013, pressionados pela União Europeia e pelos Estados Unidos, os bancos austríacos aceitaram começar a revelar informações dos depositantes às autoridades fiscais dos outros países. Para o bem ou para o mal, as instituições como o Bank Weber — bancos detidos por famílias, ao estilo de boutiques e direcionados para os muito ricos — estão a transformar-se rapidamente numa raça em extinção. No momento em que escrevo estas linhas, o registo onde constam os bancos privados suíços já tinha minguado para apenas 148 instituições, prevendo-se que as fusões e os cortes adicionais venham reduzir esse número ainda mais no futuro. Os gnomos parecem ter claramente os dias contados, conforme os governos europeus e americano encetam medidas cada vez mais agressivas no combate à evasão fiscal.
Houve realmente um massacre na cidade síria de Hama, em 1982, e, recorrendo a variadíssimas fontes, tentei representar esse horror fielmente. O homem que ordenou a destruição da cidade, e o assassínio de mais de vinte mil habitantes, não foi o ditador sem nome que surge caracterizado em O Assalto. Chamava-se Hafez al-Assad, presidente da Síria entre 1970 e 2000, ano em que morreu, tendo o filho do meio, Bashar, educado em Londres, assumido o poder. Alguns peritos no Médio Oriente tomaram Bashar por reformista. Mas, em março de 2011, quando a suposta Primavera Árabe chegou por fim à Síria, o presidente reagiu com selvajaria, incluindo o uso de gás tóxico em mulheres e crianças. Já morreram mais de 150 000 pessoas na guerra civil síria e outros dois milhões ficaram desalojados ou fugiram para os países vizinhos, sobretudo para o Líbano, a Jordânia e a Turquia. Espera-se que o número de refugiados sírios ultrapasse em breve os quatro milhões, o que corresponderia assim à maior população de refugiados do mundo. É esse o legado de quatro décadas e meia sob o domínio da família Assad. Se a carnificina e o êxodo prosseguirem a bom ritmo, os Assad poderão um dia vir a dominar uma terra sem pessoas.
Mas por que razão continuam os Assad a lutar quando a maioria do povo quer declaradamente livrar-se deles? E porquê fazê-lo com um desrespeito tão desumano pelas normas civilizadas? Só poderá ter com certeza qualquer coisa que ver com dinheiro. «É um empreendimento familiar típico», disse à CNBC, em setembro de 2013, Jules Kroll, investigador empresarial internacional e especialista em recuperação de ativos. «Só que o empreendimento familiar é um país.» As estimativas já publicadas da riqueza dos Assad variam desmesuradamente. Segundo consta, Bashar vale mais de mil milhões de dólares, embora os peritos contabilizem a fortuna global da família em cerca de 25 mil milhões. O caso do Egito é ilustrativo. Diz-se que o antigo presidente Hosni Mubarak, agraciado durante mais de trinta anos com a generosidade dos contribuintes americanos, adquiriu uma fortuna de possivelmente 70 mil milhões de dólares — e isto num país em que o cidadão médio subsiste com apenas oito dólares por dia.
Os Estados Unidos e os aliados europeus congelaram uma fração minúscula dos ativos do regime sírio, mas milhares de milhões de dólares continuam cuidadosamente escondidos. No momento em que escrevo estas linhas, caçadores profissionais de ativos andam atarefados à procura desse dinheiro. Tal como Steven Perles, um advogado de Washington, DC, que representa vítimas do terrorismo patrocinado pela Síria. Os peritos são da opinião de que, para verem os esforços chegar a bom porto, esses caçadores de ativos vão precisar provavelmente da ajuda de alguém que faça parte da Assad Incorporated. Talvez essa pessoa tenha comprado uma participação num pequeno banco privado austríaco. E talvez haja uma jovem corajosa, uma filha de Hama, a vigiar-lhe cada passo.
Daniel Silva
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















