



Biblio "SEBO"




POUCOS ANOS, a situação de Cecília Rosa em Gudhem mudou por completo. Os negócios do convento passaram por uma enorme mudança, difícil de entender por qualquer mente humana. Apesar de serem poucas as terras acrescentadas nos últimos anos, as receitas de Gudhem mais do que dobraram. Cecília Rosa explicou repetidamente que era tudo apenas uma questão de ordem e de administração. Não, não apenas, concedeu ela, se a madre Rikissa ou qualquer outra pessoa insistisse em lhe fazer perguntas. Os preços também subiram um pouco. Um manto folkeano de Gudhem estava custando agora três vezes mais do que no início da produção. Mas, precisamente como o irmão Lucien tinha previsto, os mantos, agora, estavam saindo em ritmo tranqüilo e não desaparecendo todos em uma semana como antigamente. Dessa maneira, também ficou mais fácil planejar o trabalho. Sempre havia a possibilidade de colocar algumas familiares para trabalhar no vestiarium, sem pressa e sem demora.
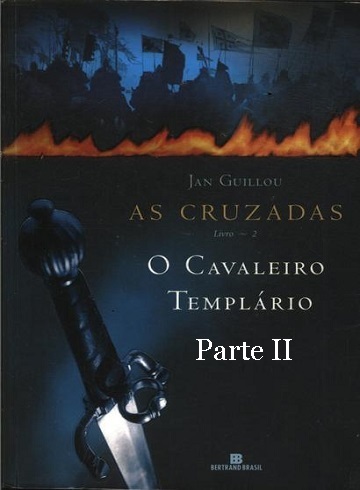
As peles necessárias para os mantos mais caros só podiam ser compradas na primavera e em poucos mercados. E se o planejamento fosse feito erradamente, como antes, aí acontecia de ficarem sem peles para atender os muitos pedidos. Agora, o depósito de peles jamais ficava vazio, o trabalho fluía sempre e dava tanta prata que as arcas de Gudhem estariam cheias demais, se a madre Rikissa não tivesse encomendado tantas pedras decorativas feitas pelos mestres francos e ingleses. Por isso, a notória riqueza de Gudhem acabou sendo também conhecida. A construção da torre da igreja foi terminada, recebendo um sino inglês com um som maravilhoso. Ainda ficaram prontos os muros internos do convento, assim como as colunas à volta do claustro.
Junto da sacristia, foram construídas duas novas salas, grandes, em pedra, que passaram a constituir uma ala diferenciada. Era o reino de Cecília Rosa, onde ela dominava com seus livros e suas arcas cheias de prata. Na sala mais afastada fez construir prateleiras de madeira com centenas de caixas onde se arquivavam todas as escrituras das doações feitas para Gudhem em boa ordem que apenas Cecília Rosa conhecia. Assim, quando a madre Rikissa chegava perguntando a respeito de uma ou outra propriedade e seu valor ou do seu valor de arrendamento, Cecília Rosa, sem o menor problema, ia direto e buscava a carta de doação e lia o que nela estava escrito. Depois, abria os livros até que encontrava a data do último arrendamento, quanto tinha sido pago e quando, e a data do próximo pagamento. Se os pagamentos demoravam, ela escrevia uma carta que a madre Rikissa assinava e autenticava com o sigilo da abadessa. A carta seguia então para o bispo e logo saíam os assistentes para recolher a renda com um lembrete simpático ou duro. Pela rede de Cecília Rosa não passava nem peixinho pequeno.
Ela não estava inconsciente do poder que essa posição de yconoma lhe proporcionava. A madre Rikissa podia perguntar o que quisesse e receber a resposta que tinha o direito de receber, mas não conseguia tomar nenhuma decisão sem antes consultar a yconoma, sempre que se tratasse dos negócios de Gudhem. E sem seus negócios Gudhem não podia existir.
Por isso mesmo, ela não se surpreendia com o fato de a madre Rikissa nunca mais a ter tratado com o menosprezo ou a crueldade do início. Ambas tinham encontrado uma maneira de lidar uma com a outra, de modo a não prejudicar os negócios ou a ordem divina em Gudhem.
Quanto mais Cecília Rosa melhorava no manuseio da contabilidade e do ábaco, mais ela ficava com tempo disponível, que ela passava com Ulvhilde nos jardins do convento, quando o tempo estava bom ou no vestiarium enquanto elas costuravam e conversavam, às vezes, até tarde na noite.
Já tinha passado muito tempo sem que a questão da herança de Ulvhilde houvesse chegado a uma solução. Cecília Blanka, durante as suas visitas, parecia um pouco evasiva, com respostas vagas, que tudo acabaria por se arranjar, mas que não podia ser feito de uma hora para a outra. A esperança levantada em Ulvhilde parecia estar prestes a apagar-se e era como se ela já estivesse conformada com isso.
Atendendo a que a madre Rikissa e Cecília Rosa encontraram um modus vivendi em que tinham a ver uma com a outra tão pouco quanto possível, foi uma surpresa para Cecília quando a madre a mandou chamar para comparecer na sala particular da abadessa para uma conversa que nunca haviam tido antes, segunda as palavras meio obscuras que usou para descrever seu desejo.
A madre Rikissa há algum tempo vinha se açoitando e dormia constantemente com a veste de cilício, mantendo-o contra o corpo. Foi uma coisa que Cecília Rosa notou de passagem, mas à qual não deu significado maior. No convento, as mulheres, às vezes, tinham dessas idéias. Nada disso era novidade, nem notável.
Ao se encontrarem, a madre Rikissa parecia encolhida, como que diminuída. Seus olhos estavam vermelhos por falta de sono e ela esfregava as mãos, uma na outra, quando, quase de forma humilhante, literalmente, se dobrou diante de Cecília Rosa.
A madre explicou com voz fraca que estava procurando o perdão, tanto diante da Virgem Maria quanto, como agora, diante da pessoa com quem ela tinha se comportado pior na vida. Que ela tinha procurado, seriamente, no seu coração, aquele demônio que tinha de ser rechaçado, aquela maldade que tinha encontrado nela refúgio, sem que fosse culpa dela. Ela tinha esperança, ainda que fraca, visto que havia sentido que a Mãe de Deus estava prestes a estender a Sua divina clemência sobre ela.
Mas a questão era saber se Cecília Rosa conseguiria, também, ser clemente. Todo aquele tempo que Cecília tinha passado no cárcere e todas as chicotadas recebidas, seria possível a madre Rikissa passar por todas essas punições em dobro ou em triplo, de boa vontade, só para alcançar a expiação dos seus pecados.
Ela contou como tinha sofrido na sua adolescência por causa da sua feiura. Ela sabia muito bem que Deus não a havia criado como aquela jovem etérea das histórias de cavaleiros e princesas. A sua família tinha origem na realeza, mas seu pai não era muito rico e, por isso, estava decidido desde sempre, desde a infância, que Rikissa jamais conseguiria se casar. Ninguém iria escolhê-la por sua riqueza, por esta ser insuficiente.
Sua mãe a consolava, dizendo que Deus tinha uma intenção para tudo e que aquela incapaz para o noivado estaria sendo preparada para um chamado mais elevado, e que o reino de Deus era aquele que Rikissa devia procurar. Na realidade, seu coração se inclinava mais para o reino das gentes. Seu desejo era cavalgar e caçar, o que muito poucas jovens achavam ser sua primeira vontade na vida.
Mas como seu pai conhecia muito bem o velho rei Sverker, os dois acabaram combinando que Rikissa estava preparada para ser a responsável por um novo convento de freiras que a família sverkeriana pensava construir em Gudhem. Contra o rei e o seu pai, evidentemente, ela nada tinha a dizer e, assim, já um ano depois do seu tempo como noviça, ela foi nomeada abadessa e Deus sabia, como sabe agora, o quanto inexperiente e receosa ela estava diante da grande responsabilidade. Mas, se uma família queria mandar construir um mosteiro, queria também tê-lo sob o seu controle e não deixar que tudo o que ele custou passasse para as mãos dos inimigos. Havia uma ponte muito estreita entre o poder da Igreja e o poder secular, visto que, ao ser indicado alguém para abade ou abadessa, era praticamente impossível para a comunidade conseguir uma mudança, caso ficasse descontente por um motivo ou outro. Por isso, havia o poder secular tanto no mundo dos mosteiros e conventos quanto fora dos muros dessas instituições, ainda que menos aparente. E, assim, não foi possível para ela contornar a convocação, que vinha não apenas da própria família como também de Deus.
Uma parte da sua dureza contra Cecília Rosa, no início, talvez pudesse ser explicada pelo fato de haver guerra na época e dos folkeanos e erikianos, de um lado, atacarem os sverkerianos, do outro. Houve injustiça, claro. Como é que Cecília Rosa, tão jovem e inexperiente, podia suportar, inclusive dentro do convento, a responsabilidade de uma guerra onde a guerra jamais iria entrar. Foi uma injustiça, um mal maior, e a culpa foi da madre Rikissa, reconhecia ela e abaixava a cabeça como se estivesse chorando.
Durante toda essa longa confissão, Cecília Rosa experimentou algo que jamais poderia pensar que sentiria. Ficou com pena da madre Rikissa. Afinal, tinha vivido o sofrimento de ser uma jovem feia de quem rapazes e homens riam pelas costas e, certamente, já nessa época, tal como a própria Cecília Rosa, assim como Ulvhilde e Cecília Blanka, haviam notado mais tarde, como ela, Rikissa, era parecida com uma bruxa. Devia ter sido muito difícil para a jovem Rikissa, cheia dos mesmos sonhos e das mesmas esperanças de todas as jovens na sua idade, ver como, lenta mas inexoravelmente, estava condenada a outro tipo de vida que ela de maneira alguma tinha previsto.
E injusto era também, pensava Cecília Rosa. Pois nenhum homem e nenhuma mulher podia escolher a sua aparência, os pais e as mães mais bonitas podiam ter as crianças mais feias e vice-versa. E se Deus tinha a intenção de criar madre Rikissa como uma bruxa, isso de forma alguma podia ser culpa dela.
E agora, quando a madre Rikissa, soluçando, pedia de novo perdão, Cecília Rosa sentia como se quisesse abraçar de imediato aquela pobre mulher e dar a ela todos os perdões solicitados. Mas se conteve no último momento e tentou imaginar como, mais tarde, poderia contar para Cecília Blanka o acontecido e o que esta diria a esse respeito. Não seriam palavras agradáveis e compreensíveis.
Cecília Rosa procurava, desesperada, por uma saída e tentava imaginar o que pessoas de bom senso como Cecília Blanka e Birger Brosa responderiam numa situação dessas. Finalmente, mais ou menos, ela se saiu bem.
— Foi uma história triste, essa, pela qual você teve de passar, madre Rikissa — começou ela, cautelosamente. — Mas, na verdade, você pecou muito e senti isso na própria pele e durante as noites frias de inverno. Mas Deus é bom e clemente, e aqueles que se arrependem dos seus pecados, como você faz agora, não estão perdidos. O meu perdão, entretanto, é de pouco valor, as minhas feridas há muito que estão saradas e o frio, há muito que está longe da minha medula. Você precisa procurar o perdão de Deus, madre. Como é que eu, pecadora tão insignificante, posso me antecipar a Deus numa coisa dessas?
— Quer dizer que você não quer me perdoar? — soluçou a madre Rikissa, inclinando-se para a frente, em contrações que fizeram lembrar, pelos ruídos, a existência da veste de cilício que ela estava usando por baixo das roupas de lã.
— Claro que sim. Gostaria muito de fazê-lo, madre Rikissa — respondeu Cecília Rosa, aliviada por ter conseguido se livrar da isca, com sucesso. — No dia em que você sentir ter obtido o perdão de Deus, volte a mim para que possamos, com grande alegria, rezar e agradecer juntas mais essa graça.
A madre Rikissa endireitou-se lentamente da sua posição encurvada e abanou a cabeça, agradecida, como se tivesse achado boas as palavras de Cecília Rosa e dignas dos melhores pensamentos, ainda que não tivesse recebido o perdão solicitado. Enxugou os olhos como se lá tivessem existido lágrimas e, respirando fundo, começou a contar qualquer coisa a respeito de todas as discussões surgidas na seqüência da dupla fuga de Gudhem e de Varnhem. Tanto ela como o padre Henri receberam reprimendas do arcebispo por aquele grande pecado acontecido e de cuja responsabilidade eles não podiam deixar de ser acusados.
Mas a madre Rikissa nada pôde dizer em sua defesa, visto que não sabia de nada do que acontecia nas suas costas. Mas agora, que tudo já tinha passado há muito tempo, será que a querida Cecília Rosa não teria a piedade de dizer alguma coisa a respeito do que havia de verdade no caso?
Cecília Rosa ficou gelada. Olhou bem para a madre Rikissa e julgou ver os olhos de serpente do diabo no seu rosto. Será que as pupilas dela nos seus olhos vermelhos não tinham se alongado na lateral como numa serpente ou num bode?
— Não, madre Rikissa — respondeu ela, rígida. — A esse respeito, não sei absolutamente nada mais do que você. E como poderia saber, eu, pobre cidadã pecadora, a respeito do que um monge e uma freira estavam planejando?
E logo se levantou e se afastou sem dizer nada mais e sem beijar, primeiro, a mão da madre. E se conteve até fechar as portas e sair para o claustro agora bonito e florido com as rosas subindo por todos os pilares, rosas que pareciam ser uma saudação permanente da irmã Leonore. Na realidade, nada se sabia do irmão Lucien e da irmã Leonore. E como nada se tinha ouvido de punições e de penitências ou excomunhões, as notícias só podiam ser boas. Certamente, já deviam estar lá no sul do reino dos francos, felizes um com o outro e com a sua criança, e vivendo sem pecado.
Cecília Rosa seguiu lentamente ao longo das roseiras no claustro, cheirou as vermelhas e afagou as brancas, sem cheiro, e todas as rosas como que a saudaram em nome da irmã Leonore, numa saudação vinda do feliz país da Occitanien. Cecília Rosa, entretanto, começou a estremecer de frio, embora fosse o entardecer de um belo dia de verão.
Sim, tinha estado diante da própria serpente, e a serpente tinha falado amistosamente como se fosse um cordeiro e, por momentos, q tinha levado Cecília Rosa a acreditar que a serpente também podia ser um cordeirinho. Que grande desastre teria sido e que grande teria sido a punição em seguida, se ela tivesse caído na esparrela e contado tudo, na sua compaixão infantil e na seqüência de seus olhos velados que por momentos viram alguém diferente da verdadeira madre Rikissa.
Em todas as situações na vida, no entanto, era preciso tentar pensar como um homem com poderes. Ou, pelo menos, como Cecília Blanka.
Se alguma coisa justificasse, mais do que qualquer outra, nos dias seguintes, o autoflagelo da madre Rikissa ou, talvez melhor, a sua rnal sucedida tentativa de enganar Cecília Rosa e levá-la a se trair como co-pecadora no mais grave atentado contra a paz do convento, foi a mensagem da rainha Cecília Blanka de que não chegaria sozinha na sua Próxima visita a Gudhem. Viria na companhia do conde Birger Brosa.
Era uma mensagem aziaga. Afinal, o conde não era um homem que viajaria até o convento só para utilizar o seu precioso tempo para falar com uma pobre pecadora arrependida, mesmo que já tivesse demonstrado de várias formas o seu apoio a Cecília Rosa. Se o conde vinha, é porque alguma coisa de grande estava sendo tramada.
Foi isso também que Cecília Rosa pensou, ao tomar conhecimento da mensagem. Atualmente, não era mais possível para a madre Rikissa guardar para si a informação dessa futura visita. A yconoma precisava saber a tempo que nível de hospitalidade se esperava de Gudhem, a fim de que pudesse mandar os seus homens comprar tudo aquilo que, normalmente, não era consumido no convento. As regras recomendavam que todo homem e toda mulher que dedicassem a sua vida a Deus teriam de desistir de comer carne de animais de quatro patas. Mas para os condes não existiam, certamente, essas regras. Nem tampouco em todos os mosteiros. Era bem conhecido que os monges borgonheses de Varnhem, sob a supervisão do padre Henri e também, além disso, com o seu notório estímulo, tinham criado a melhor cozinha da Escandinávia. A Varnhem, Birger Brosa poderia chegar a qualquer momento, sem avisar, e mesmo assim ser recebido à mesa em melhores condições do que em casa. Mas, em se tratando de Gudhem, ele achava melhor se precaver.
Quanto ao que Birger Brosa tinha intenções de fazer, isso era coisa que Cecília Rosa tinha razões para se preocupar e tentar saber por antecipação. Entretanto, não tinha nada de especial a esperar, a não ser que o seu longo tempo de penitência chegasse ao fim, mas antes disso nenhum rei, nem conde, poderia fazer nada, a não ser tentar manter a madre Rikissa no seu lugar, se não sob a disciplina e admoestação do Senhor, pelo menos sob a disciplina do poder secular. E, ao contrário da madre Rikissa, Cecília Rosa não tinha nada a recear nem do conde nem da rainha. Para ela, tratava-se apenas de uma curiosidade agradável a de esperar pela visita da amiga Cecília Blanka, visita que, desta vez, poderia se desenrolar de maneira diferente em relação ao que acontecia normalmente.
O conde chegou com um grande séquito. Bem alimentado e satisfeito, ele já estava, visto que por questão de segurança já passara em Varnhem um dia e uma noite, antes de continuar a viagem com a rainha, um percurso curto, na direção do sul, até Gudhem.
Os cascos dos cavalos batiam ritmicamente no novo chão empedrado do lado de fora dos muros, os homens falavam grosso e discutiam, e as hastes, as cordas e as coberturas chiavam na hora de erguer as tendas do campo, onde ficavam os homens do conde, enquanto a tensão crescia dentro de Gudhem a cada som inusitado. Todavia, Cecília Rosa, que no momento já podia sair até a hospedaria sem pedir autorização à madre Rikissa, ficou calma no seu lugar, junto dos seus livros e da sua pena de ganso, terminando seu trabalho de contabilidade de todos os gastos que a imponente visita já havia causado. Ela achava que lhe fazia sentir bem não sair correndo para aquilo que, sem dúvida, lhe dava mais alegria todos os anos, sem antes, como qualquer boa trabalhadora, terminar as suas tarefas. Diversão e descanso eram as recompensas para qualquer bom trabalho realizado, achava ela. E achava, também, que ia ser assim que ela viveria mais tarde fora de Gudhem, já que o tempo de penitência estava chegando ao fim. Ela sentia isso e aos poucos tinha começado a fantasiar como a sua vida iria ser no futuro. Mas seus sonhos não eram, infelizmente, muito claros, já que havia uma coisa que não estava nada nítida.
Já há muitos anos que não vinham notícias de Varnhem e do padre Henri sobre Arn Magnusson. A única coisa de que ela tinha certeza era que ele não morrera, atendendo a que, segundo o padre Henri e contado para Cecília Blanka, Arn havia subido tanto de posto como templário que as missas por sua morte na guerra santa, caso acontecesse, seriam lidas em todo o mundo cisterciense. Enfim, ela sabia que ele estava vivo, mas nada mais do que isso.
Mas eram exatamente notícias de Arn que Birger Brosa tinha para apresentar, logo que ela chegou à hospedaria e abraçou Cecília Blanka, fazendo depois uma vênia para o conde. Abraçá-lo, ela não ousava. Os anos de convento tinham começado a deixar as suas marcas, até mesmo sem ela ter consciência disso.
Depois dos cumprimentos e de ter recebido a sua caneca de cerveja, ele sentou-se tranqüilamente à mesa, cruzou uma das pernas como costumava fazer e olhou maliciosamente para Cecília Rosa, enquanto ela se sentava e colocava as suas vestes no lugar.
— Muito bem, minha querida parente — começou ele, e prolongou um pouco o silêncio para atrair ainda mais a atenção dela. — Nós temos, a rainha e eu, muitas coisas para lhe contar. Algumas muito importantes e outras, de menos peso. Mas eu sei o que é que você quer ouvir primeiro. São as últimas notícias de Arn Magnusson. Atualmente, ele é um dos grandes vencedores entre os templários. Venceu, recentemente, uma grande batalha perto de um lugar chamado Monte Gisard, pelo menos acho que foi isso que o padre Henri me contou. E não foi uma batalha qualquer. Cinqüenta e cinco mil sarracenos morreram e ele próprio estava liderando um grupo de apenas dez mil cavaleiros, com ele bem na frente. Deus queira que um guerreiro como ele volte rápido para casa. É isso que nós, folkeanos, esperamos, talvez tanto quanto você, Cecília!
Cecília Rosa abaixou logo a cabeça numa prece de agradecimento e, em breve, as lágrimas escorriam dos seus olhos e pelas suas faces. Birger Brosa e Cecília Blanka deixaram-na à vontade, ao mesmo tempo que trocavam um olhar de compreensão.
— Será que podemos continuar contando mais do que a nossa mente está cheia? — perguntou o conde momentos depois e abriu mais uma vez o seu conhecido sorriso. Cecília Rosa acenou que sim, enxugando constrangida as suas lágrimas, mas sorrindo para Cecília Blanka, como se ela não precisasse nem de palavras, nem de silenciosos sinais convencionais, para explicar um pouco a grande felicidade que a mensagem de Varnhem lhe tinha trazido.
— Muito bem, vou lhe contar agora a respeito de Ulvhilde Emundsdotter, um caso que não tem sido nada fácil — recomeçou o conde, assim que achou que Cecília Rosa tinha se recomposto o suficiente.
Então, explicou tranqüilamente, ponto por ponto, em boa ordem, como as várias dificuldades foram aparecendo e como ele tentou contorná-las.
Antes de mais nada o mais importante: era verdade que Ulvhilde tinha a lei da Götaland Ocidental ao seu lado. A esse respeito, estavam três homens de leis totalmente de acordo. Ulfshem foi o lar de infância de Ulvhilde. Sua mãe e seu irmão foram assassinados. Sem dúvida, ela era por justiça a herdeira de Ulfshem.
Mas o caso, mesmo assim, não foi nada fácil. É que o rei Knut Eriksson não foi amigo, nem de longe, do pai dela, Emund. Antes pelo contrário. Quando a questão da herança foi levantada, ele foi peremptório, dizendo que se pudesse matar Emund uma vez por dia como aquele porco das histórias que sempre reencarna, ele seria o homem mais feliz do mundo. Emund foi o assassino de um rei. E, pior do que isso, ele foi o assassino infame e covarde do Santo Erik, o pai do rei Knut. E por que razão, havia dito o rei Knut, ele devia ter a mínima clemência pela descendente daquele néscio do Emund?
Porque a lei o exige, tentou então Birger Brosa explicar. A lei estava por cima de todos os outros poderes. A lei era a base sobre a qual o país devia ser construído e contra ela nem o rei podia objetar.
As dificuldades, porém, não tinham terminado com a teimosia do soberano. Ulfshem foi arrasada por um incêndio. Depois, foi doada para os folkeanos que bem a mereceram na seqüência da vitória nos prados de sangue. Portanto, em Ulfshem vivia agora um tal de Sigurd Folkesson e seus dois filhos solteiros. A mãe deles morreu ao dar à luz. E ele, por uma razão ou outra, resolveu nunca mais se casar de novo.
Esses folkeanos argumentaram que receberam Ulfshem por doação do rei e que tinham reconstruído tudo, a partir do chão.
Neste momento, com visível surpresa, o conde foi interrompido por uma Cecília Rosa, que, quase desrespeitosamente, salientou que as terras valiam muito mais que quaisquer casas, mesmo que agora tivessem sido construídas casas de pedra em vez de casas de madeira, caso se tivessem feito construções segundo os métodos modernos, visto as casas antes existentes terem ardido como numa fogueira e tudo ter sido reconstruído. Sim, o que é que valiam algumas casas contra todas as terras e as pedras?
O conde franziu um pouco a testa por ter sido corrigido, mas como a única testemunha do ato era a rainha, deixou que a coisa passasse em branco. Por isso, em vez de se zangar, passou a elogiar Cecília Rosa por sua compreensão afiada dos negócios.
De qualquer forma, esse assunto foi se alongando para a frente e para trás. No entanto, agora, havia mais de um caminho para sair dessa toca de raposa.
Um dos caminhos seria com prata. Um outro seria com casamento. Se Ulvhilde aceitasse ficar noiva de qualquer dos filhos de Sigurd, nada impediria que ela recuperasse mais de metade da posse de Ulfshem. Alguma coisa ela teria que dar como presente de casamento.
Nesse momento, Cecília Rosa parecia que, de novo, iria interromper o conde, mas afinal se conteve.
A segunda possibilidade, continuou o conde, enquanto que, com um sorriso nos lábios, levantava o indicador no sentido de que não queria ser interrompido de novo, era a de comprar Ulfshem dos fol-keanos. Nos últimos anos, Birger Brosa tinha atravessado duas vezes o mar Báltico e numa das vezes ele e seus homens tinham sido surpreendidos por um contra-ataque, e, em dado momento, a luta ficou bem feia. Foi então que Birger Brosa prometeu a Deus como pagamento para se salvar da situação difícil construir três igrejas. E como a situação da luta continuou difícil, ele decidiu que, além das três igrejas, poderia pensar-se na regularização do caso da pequena Ulvhilde. E foi então que a sorte da guerra imediatamente mudou.
As igrejas já haviam sido construídas. Mas a dívida para com Deus ainda não tinha sido totalmente paga. E, por isso, de uma forma ou de outra, a vida de Ulvhilde iria ser regularizada. A questão era saber como. E como Cecília Rosa, certamente, já tinha entendido, nem ele nem Cecília Blanka queriam ter essa conversa na presença de Ulvhilde e só por isso ela ainda não tinha sido convidada a vir até a hospedaria.
Restava saber o que Cecília Rosa achava, e se chegassem a um acordo sobre a decisão mais acertada era só chamar Ulvhilde.
Portanto, finalmente, qual era a opinião de Cecília Rosa? Era ela que conhecia a pequena Ulvhilde melhor. Iria ser a solução mais cara, a de comprar a propriedade dos folkeanos, ou seria tudo resolvido pelo caminho mais simples de ela se casar com alguém da família folkeana?
Cecília Rosa achava que essa questão não dava para resolver de um momento para o outro. Num mundo melhor, em que Ulvhilde não tivesse tido todos os seus familiares mortos na guerra, ela teria um pai que há muito tempo a faria casar-se da melhor maneira possível. Provavelmente, com algum dos parentes dos condes Kol e Boleslav. Mas na situação como era agora, Ulvhilde não tinha nenhuma obrigação por esse lado. Na verdade, ela certamente iria aceitar aquilo que as suas duas únicas amigas e, além delas, o conde decidissem ser o melhor para ela. Mas a pressa em obrigar Ulvhilde a casar poderia conduzir para a sua infelicidade, embora também, quem poderia saber, para a sua felicidade.
O melhor seria, segundo Cecília Rosa, depois de pensar por momentos, se Ulvhilde pudesse simplesmente viajar para casa, para o seu burgo e suas terras, sem a promessa de ter de casar-se. Enquanto Birger Brosa arranjasse novas terras para eles, o folkeano Sigurd e seus dois filhos poderiam ficar de início, para ajudar Ulvhilde a se tornar dona da casa. Porque isso não ia ser nada fácil de aprender, depois de viver a maior parte da sua vida entre cânticos, jardins e plantações, e muito tempo de sono.
Birger Brosa argumentou, murmurando que essa seria a solução mais cara, no caso de nenhum dos filhos de Sigurd se encaixar no gosto da jovem Ulvhilde. Nessa altura, as duas Cecílias o repreenderam de imediato porque ele, primeiramente, fez a promessa a Deus sem qualquer restrição pecuniária e, por outro lado, ficara muito mais rico depois das suas expedições para o leste. Birger Brosa não ficou zangado com essas correções feitas ao seu comportamento, principalmente porque elas não foram feitas na presença de outros homens. Depois de um curto momento de reflexão, em silêncio, ele acenou com a cabeça, aceitando a proposta, e pediu a Cecília Rosa para ir ao convento buscar Ulvhilde.
Já a caminho, Cecília Blanka lembrou-lhe que essa seria a última vez que Ulvhilde passaria pelo portão de Gudhem, visto que eles iriam levá-la consigo dali a um ou dois dias, na viagem para o norte. Portanto, acrescentou ela, se houvesse algum manto sverkeriano à mão era melhor trazê-lo de imediato. O conde, certamente, não teria nada contra o pagamento desse presente para ela. E se ele questionasse mais essa pequena despesa, ela mesma, Cecília Blanka, faria questão de pagar. A esse respeito, tanto ela quanto Birger Brosa riram bastante.
Com as faces rosadas e com o coração batendo forte, Cecília Rosa saiu correndo para trás dos muros de Gudhem na direção do vestiarium, onde ela esperava encontrar, a essa hora do dia, a pequena Ulvhilde. Mas lá ela não estava. Cecília Rosa procurou logo um manto muito bonito, sverkeriano, vermelho cor de sangue, com fios em ouro e seda bordados sobre o negro do escudo heráldico nas costas, dobrou-o e colocou-o sob o braço, para seguir procurando por Ulvhilde. De repente, sentiu um grande temor dentro de si.
E como que dirigida por esse temor não foi procurar em lugares onde ela poderia estar, mas seguiu logo na direção da sala da madre Rikissa e lá dentro ela foi encontrar as duas de joelhos, chorando. A madre Rikissa abraçava pelas costas Ulvhilde que era sacudida pelos soluços. Aquilo que Cecília Rosa mais tinha receado dentro de si estava para acontecer ou, na pior das hipóteses, já tinha acontecido, apesar de todos os avisos que ela havia feito para Ulvhilde.
— Não se deixe seduzir, Ulvhilde! — gritou ela, correndo na direção das duas e puxando Ulvhilde, com toda a força, das garras da madre Rikissa. Em seguida, abraçou-a e acariciou as suas costas sacudidas pelo choro, enquanto se atrapalhava com o manto vermelho.
A madre Rikissa levantou-se, então, sibilando, os olhos vermelhos relampejando e gritando em alto e bom som que ninguém tinha o direito de interromper uma confissão. E que algo já tinha sido dito, mas que ainda faltava alguma coisa para se chegar aos fatos com clareza. E, então, tentou pegar Ulvhilde pelos braços para a atrair de novo para si.
Com uma força que parecia estar fora do seu alcance, Cecília Rosa afastou da bruxa a sua amiga, ainda chorosa, e levantou o manto vermelho como um escudo entre as duas. Ambas pararam como que petrificadas diante daquele tecido vermelho do enorme manto.
Cecília Rosa aproveitou para colocar o manto sverkeriano sobre os ombros de Ulvhilde como se fosse um escudo de ferro contra a maldade da madre Rikissa.
— Está na hora de você se conter, Rikissa! — disse ela, com uma entonação fortíssima que, normalmente seria impossível de imaginar nela. — Aqui, na sua frente, não está mais a sua escrava, não está mais a pobre jovem Ulvhilde entre as familiares, sem prata e sem família. Aqui, está Ulvhilde de Ulfshem e vocês duas, agora, se Deus quiser, nunca mais se verão novamente!
Na repentina parada que atingiu tanto Ulvhilde quanto a madre Rikissa, Cecília Rosa aproveitou para, sem despedidas, sair da sala arrastando Ulvhilde. Passaram por um pequeno trecho do claustro e saíram rápido pelo grande portão do convento.
Lá fora pararam diante da imagem de pedra de Adão e Eva sendo expulsos do Paraíso e ficaram se recuperando por alguns momentos como se tivessem corrido por muito tempo.
— Eu a avisei dúzias de vezes e lhe contei como a serpente iria tentar domar você como ovelha — disse finalmente Cecília Rosa.
— Eu... fiquei... com tanta pena dela! — gaguejou Ulvhilde.
— Pode ser que a gente chegue a ter pena dela, mas isso não diminui a sua maldade. Você não lhe contou nada... O que é que você disse para ela? — perguntou Cecília Rosa, cautelosa e preocupada.
— Ela me levou a chorar diante da infelicidade dela, me levou a perdoá-la — disse Ulvhilde, falando baixo.
— E, depois, queria que você se confessasse!
— Sim, depois queria me ouvir em confissão, mas aí você entrou na sala como se tivesse sido mandada pela Virgem Maria. Me perdoe, minha querida amiga, mas quase cometi uma grande tolice — respondeu Ulvhilde, envergonhada e com os olhos fixos no chão.
— Acho que você tem razão, acho que Nossa Senhora me mandou chegar no momento certo de clemência. Esse manto que você traz agora nos ombros seria retirado imediatamente e você ficaria secando para sempre em Gudhem, se tivesse dito a ela a verdade sobre a irmã Leonore. Vamos fazer uma prece e agradecer a Nossa Senhora.
Ambas se ajoelharam diante do portão do convento por onde Ulvhilde tinha saído pela última vez. Ulvhilde estava a ponto de começar a perguntar. Era como se ela só agora tivesse recuperado os sentidos e começado a entender que jóia Cecília Rosa tinha colocado sobre os seus ombros. A prece foi longa e profunda, um agradecimento sincero à Virgem Maria, pelo perdão às pecadoras, de pecados que por pouco as lançavam ambas na perdição e nisso podiam arrastar a rainha consigo na queda. De resto, estavam mesmo convencidas de que a Virgem Maria lhes mandara uma maravilhosa salvação no derradeiro momento. A bruxa tinha mesmo enfeitiçado Ulvhilde e quase a levou a colocar a corda no pescoço.
Mas quando as duas se levantaram e se abraçaram e se beijaram, Ulvhilde recuperou ainda mais os seus sentidos, afagou o tecido vermelho, tão macio, e perguntou sem palavras seu significado.
Cecília Rosa explicou, então, que estava na hora de Ulvhilde viajar para casa e que o manto foi um presente do conde ou da rainha, mas que, na realidade, essa não era a única propriedade de Ulvhilde, visto que agora ela era a única dona de Ulfshem.
Enquanto as duas, sob devoto silêncio, andavam aquele pequeno pedaço entre o portão de Gudhem e a hospedaria, onde as esperava seu benfeitor, Ulvhilde tentou com todos os seus sentidos entender o que acabava de acontecer.
Momentos antes, ela não tinha nada mais do que as roupas que vestia no corpo e, na realidade, nem isso. As roupas que ela usava ao chegar a Gudhem eram roupas de criança, pequenas demais desde há muito tempo e certamente desaparecidas ou vendidas. Nem um único objeto de sua propriedade ela precisara ir buscar, antes de atravessar o portão de Gudhem.
O passo seguinte, recebendo o caríssimo manto vermelho e se transformando na dona de Ulfshem, era impossível de entender, a não ser com mais tempo de reflexão.
Cecília Rosa e Ulvhilde pareceram claramente mais pálidas e pensativas do que o seu benfeitor esperava, quando entraram na sala de banquetes da hospedaria onde os cozinheiros e os cervejeiros já tinham começado o seu trabalho. O conde, que, manhosamente, esperava receber com uma profunda e respeitosa vênia a nova dona de Ulfshem, viu logo que alguma coisa não estava correndo como devia.
A festa deles, portanto, teve um começo meio estranho, visto que Cecília Rosa e Ulvhilde tiveram que contar a última e desesperada tentativa da madre Rikissa de derrubar todo o mundo. O conde ouviu pela primeira vez como as três juramentadas tinham apoiado o monge e a freira que fugiram. Primeiro, ele ficou pensativo. Embora não muito entendido nas regras da Igreja, sabia que a felicidade e o bem-estar na vida dependiam de um fio muito frágil. No entanto, no seu entendimento, o perigo já tinha passado. Pensando bem, o que o caso exigia, existiam agora apenas quatro pessoas em todo o país que conheciam a verdade sobre os fugitivos do convento. A rainha e Cecília Rosa, certamente, saberiam guardar o segredo muito bem. Assim, também, Ulvhilde, em especial se ela acabasse casando na família folkeana — nesse momento, ele notou os olhares severos das duas Cecílias — , em especial, se preocupando como deve, a respeito da paz e da felicidade dos seus amigos, mudou ele, rapidamente. E por sua parte, acrescentou ainda, com um amplo e exagerado sorriso, ele não iria lançar o país no fogo e na guerra por causa de um monge fugitivo.
Era essa, explicou ele, em seguida, mais sério, a intenção de Rikissa. Por parte dela, a questão era muito mais do que uma vingança contra duas jovens que não se deixaram subjugar. Era preciso recordar que fora ela que uma vez conseguira que Arn Magnusson quase fosse excomungado e fora ela que provocara a maior confusão contra Knut Eriksson, que na época ainda não tinha sido reconhecido como rei por todos. Se Rikissa agora conseguisse, como pensou, excomungar a rainha Cecília Blanka por participação na fuga do convento — afinal, ela havia participado no crime através do pagamento feito os filhos dela e de Knut não poderiam herdar a coroa e aí a guerra estaria próxima. Assim ela havia pensado, Rikissa. Se tivesse alcançado sucesso, isso lhe teria dado uma boa razão para se regozijar pelo resto da sua vida neste mundo, a caminho do inferno que é o lugar para onde ela irá quando morrer.
Mas agora, portanto, existem razões em dobro para festejar com um banquete a alegria do momento, continuou ele, de um jeito novo e mais otimista, fazendo um brinde muito solene para as três.
O pequeno banquete que se seguiu, veio lenta mas consistente-mente, visto que todos comeram e beberam e puderam começar a fazer piadas a respeito da alimentação habitualmente reduzida de Cecília Rosa e Ulvhilde que, todavia, as conservava jovens e saudáveis, enquanto que a alimentação na liberdade e na riqueza, realmente, tinha as piores qualidades para aquele que quisesse viver mais tempo. Enfim, empanturraram-se de vitela e de cordeiro e provaram do vinho para acompanhar, mas beberam muito mais a cerveja, de que havia quantidades inesgotáveis.
As duas Cecílias e Ulvhilde, como era de esperar, desistiram muito antes de Birger Brosa que, como muitos folkeanos, era conhecido pelo seu bom apetite. Seu avô tinha sido Folke, o Gordo, o poderoso conde da sua época.
Birger Brosa acabou parando com o seu guisado, os seus animais roedores adocicados e os seus feijões, mais cedo do que se estivesse em companhia masculina. Achou meio estranho, no final, ser o único que ainda estava comendo, enquanto as três mulheres ficavam olhando para ele cada vez com maior impaciência. Era de praxe, depois da cerveja, poder falar de uma maneira mais agradável, pelo menos até o momento de ficar bêbedo demais. E Birger Brosa, desta vez, tinha vários assuntos a tratar.
Assim que ele notou que as duas Cecílias e Ulvhilde começaram a falar na sua língua silenciosa e, de vez em quando, olhando para ele, rindo à socapa, resolveu afastar a comida da sua frente, encher mais um caneco de cerveja, recolocar a sua faca na cintura, enxugar a boca, puxar uma das pernas para baixo do corpo e ficar de caneco na mão, balançando em cima do joelho da perna levantada, como costumava fazer. Tinha mais a contar, coisas que poderiam ser consideradas importantes, explicou ele, solenemente, bebendo mais um novo e grande gole, enquanto aguardava que se restabelecesse o silêncio esperado.
Começou dizendo ser um vexame a maioria dos mosteiros e todos os conventos estarem nas mãos de sverkerianos.
Essa situação não podia persistir. Produzia discórdia e incômodos enormes para alguns, como no caso das duas Cecílias e de Ulvhilde, que sentiram na pele essa circunstância. Por isso, ele tinha custeado um novo mosteiro, a ser inaugurado em breve. Chamava-se Riseberga e estava situado em Nordanskog, a nordeste de Arnäs, ou seja, na escura Svealand. Mas não era questão de se preocupar, acrescentou ele, rápido, quando viu as caretas feitas pelas suas ouvintes perante a palavra Svealand- No momento, está-se a caminho de transformar as províncias num único reino sob a coroa de Knut. Trata-se de comerciar uns com os outros, casar-se uns com outras e, se necessário, colar uns nos outros em vez de tentar guerrear uns com os outros. Este último caso já foi tentado desde tempos imemoriais sem sucesso.
O mosteiro de Riseberga poderia ser inaugurado em breve e entrar em funcionamento. Duas coisas faltavam. Uma delas era uma abadessa de origem folkeana ou erikiana e nesse momento estava-se procurando no país, de vela e lanterna na mão, por uma freira adequada. Se não se encontrasse, era preciso lançar mão de uma noviça, mas, de preferência, era bom encontrar uma freira já assumida para ser abadessa, alguém que já tivesse experiência com tudo o que se passa num convento.
A segunda coisa que faltava era uma boa yconomus. Entretanto, Birger Brosa já tinha ouvido de várias instâncias que os negócios de Gudhem eram os melhor administrados entre todos os conventos do país e quem dirigia esses negócios não era, por muito que isso custasse a crer, um homem.
Nesse momento, ele foi interrompido pelas duas Cecílias ressentidas, uma dizendo que essa capacidade já ela tinha colocado à disposição do conde há muito tempo e a outra, esclarecendo que o yconomus que servia antes em Gudhem era sem dúvida um homem, mas, mais do que isso, um imbecil.
Birger Brosa escondeu-se com fingido pavor atrás do seu caneco de cerveja, explicando depois com assumida satisfação que ele estava bem consciente da situação e que apenas estava de brincadeira. Mas, falando sério, queria que Cecília Rosa assumisse como yconomus o seu convento, Riseberga.
— Não yconomus, mas yconoma, que é o feminino de yconomus, — corrigiu Cecília Rosa, com fingidos sentimentos de ofendida.
O problema era, no entanto, continuou Birger Brosa, falando mais seriamente, que a coisa ia demorar um pouco antes que se pudesse vir buscar Cecília Rosa e levá-la para Riseberga, mais ao norte. Havia a questão da carta do arcebispo com o seu sigilo, mais uma coisa e outra e, por isso, inevitavelmente, a transferência ia demorar um pouco. Nesse entretempo, Cecília Rosa iria ficar sozinha com Rikissa em Gudhem, sem amigas e testemunhas, e havia nuvens negras pairando sobre essa idéia.
Com isso concordava Cecília Rosa. Se a madre Rikissa souber que será obrigada a administrar os negócios de Gudhem, ela poderá reagir Deus sabe como. Qualquer limite para a maldade daquela mulher não existe.
Mas se ela não suspeitar do que está sendo tramado, então a vontade de ter os negócios em ordem será sempre mais forte do que tentar novas artes com a camisa de cilício, as confissões e os choros falsos. Principalmente, logo depois da tentativa malsucedida que praticou. Nesse momento, devia estar deitada na sua cama, sem a camisa de cilício, rangendo os dentes de ódio.
Ulvhilde achava, seriamente, que a madre Rikissa praticava feitiçaria, que ela poderia levar uma pessoa a ficar sem vontade própria e a confessar qualquer coisa como se fosse a vontade de Deus e não do diabo. Contra essa feitiçaria ninguém podia se defender. Foi por essa experiência que ela própria passara, quando, apesar de todos os avisos, esteve muito próximo de ceder diante do maldoso poder de persuasão da madre Rikissa.
Cecília Blanka interrompeu então a conversa e disse que tudo podia se resolver fácil. Aquilo que Cecília Rosa devia fazer era aguardar alguns dias. Procurar, depois, Rikissa numa sala, a sós, fingir que lhe perdoava, rezar com ela algumas vezes e agradecer a Deus por também Ele ter perdoado a Sua pecadora abadessa.
Evidentemente, tratava-se de mentir e dissimular diante de Deus. Mas Deus não podia ser tão louco a ponto de não reconhecer a necessidade desse sacrifício. Mais tarde, Cecília Rosa iria poder rezar e pedir a graça de Deus, uma vez a sós com Deus, em Riseberga.
E, além disso, continuou Cecília Blanka, Birger Brosa precisa manter seus planos a respeito da yconoma para Riseberga em completo segredo. Talvez falar com outra pessoa para o lugar, talvez espalhar rumores falsos a respeito do assunto. Qualquer coisa será permitida na luta contra o diabo.
A conseqüência de toda essa cortina de fumaça devia ser, portanto, um dia chegar uma escolta para buscar Cecília Rosa, sem qualquer aviso prévio. Cecília Rosa sairia, então, direto pelo portão do convento, exatamente como ela, Cecília Blanka, e mais tarde Ulvhilde, saíram, sem sequer se despedir. E aí a bruxa ficaria chupando o dedo.
Todos acharam que a sugestão de Cecília Blanka era boa. E assim teria de ser feito, pois, assim era, com certeza, a vontade de Deus. Certamente, Ele não iria querer penalizar mais Cecília Rosa. E por que razão iria querer ajudar a madre Rikissa nas suas maldades?
Não foi Deus que ajudou madre Rikissa, era outra pessoa, achava Cecília Rosa, pensativa. Ela iria pedir, no entanto, a Nossa Senhora por proteção, todas as noites. E não tinha Nossa Senhora protegido tanto a ela quanto ao seu amado Arn, durante tantos anos? Portanto, é claro que a Sua proteção era séria e eficaz.
Estava quase terminando o verão, quando a jovem e solteira Ulvhilde Emundsdotter viajou de Gudhem para a sua nova vida em liberdade. Era o tempo da entressafra, com a colheita anterior quase no fim, as arcas e as despensas quase vazias, e as plantações despontando, ricas e viçosas.
Ulvhilde cavalgava ao lado da rainha, na frente do séquito e logo atrás do conde e dos cavaleiros porta-bandeiras, com o leão dos fol-keanos e as três coroas. Atrás da rainha e de Ulvhilde seguia uma força de mais de trinta escudeiros que na maioria portavam a cor azul, embora Ulvhilde não fosse a única com manto vermelho.
Por todo lado por onde passavam a caminho de Skara, parava todo o trabalho nos campos. As pessoas, homens e mulheres, vinham até a beira do caminho, se ajoelhavam e pediam a Deus para manter a paz e proteger o conde e a rainha Cecília Blanka.
Ulvhilde não tinha montado a cavalo desde criança e, mesmo que se considerasse que cavalgar todas as pessoas podiam, porque isso era a ordem de Deus, que os animais servissem ao homem, mesmo assim ela sentiu bem cedo que a sua inexperiente maneira de cavalgar não era a mais agradável de viajar. A toda hora era obrigada a mudar de posição, uma manobra difícil. Isso porque o sangue se acumulava na perna ou o joelho esfregava na sela. Como criança, havia cavalgado com uma sela normal, com as pernas, cada uma, de um dos lados do animal, mas agora ela e Cecília Blanka, tal como todas as senhoras de alta linhagem, tinham que cavalgar com as duas pernas do mesmo lado do cavalo. E isso era mais difícil e mais doloroso.
No entanto, o problema da sela era uma preocupação muito pequena que desaparecia entre todos os outros sentimentos. A atmosfera estava apenas fresca e agradável demais para respirar, e Ulvhilde aproveitava, repetidamente, para encher o peito e sustentar o ar lá dentro como se não quisesse deixar sair o sabor da liberdade.
Viajavam entre campos de plantações e luminosas florestas de carvalhos, passando por resplandecentes lagoas e cachoeiras até que chegaram a Billingen e a floresta se adensou e, por isso, o esquadrão de escudeiros se dividiu. Metade dos escudeiros passou para a frente da rainha e do conde. Não havia nada para se preocupar, explicou Cecília Blanka para Ulvhilde. A paz reinava no país há muito tempo, mas os homens se comportavam sempre como se esperassem ter de puxar pela espada no momento seguinte.
A floresta também não parecia para Ulvhilde especialmente ameaçadora. Era composta em grande parte de carvalhos altíssimos e faias. E a luz penetrava pelas cúpulas das árvores se dividindo em vários tons de cores. A distância, conseguiram ver alguns veados que se movimentavam, cautelosos, entre os troncos.
Jamais Ulvhilde poderia imaginar que o mundo lá fora era tão bonito e hospitaleiro. Estava agora com vinte e dois anos de idade, uma mulher de meia-idade que já devia ter tido filhos para criar, uma coisa que ela acreditava que nunca mais iria acontecer. Imaginava, sim, ao ver a sua vida como ela era, que iria ficar no convento até o fim do caminho.
Dentro de si, no entanto, ela sentia que aquela felicidade toda não podia continuar, que a liberdade teria seus outros lados, lados que ela teria de conhecer e dominar da maneira mais dura. Enquanto, porém, continuasse cavalgando de costas para Gudhem, para onde nunca mais voltaria, ela não queria pensar em nada, a não ser na alegria de estar livre. A liberdade quase que era grande demais para o seu peito, que doía quando ela respirava muito fundo. Era como se estivesse, pensava ela, bêbada de tanta liberdade e que nada além dessa sensação importava.
Durante a noite, fizeram uma parada em Skara para dormir na fortaleza real. O conde tinha assuntos para tratar com os homens soturnos que o esperavam. E a rainha Cecília Blanka orientou as mulheres do castelo para que trouxessem novas roupas para Ulvhilde. Depois, deram-lhe um banho, passaram a escova e pentearam seus cabelos, e vestiram-na com um vestido de cor verde, de tecido bem macio e uma faixa de prata na cintura.
No chão da câmara onde se realizaram todos esses arranjos, restou um triste montinho de roupa de lã desbotada e marrom que Ulvhilde usava há tanto tempo, desde suas primeiras recordações. Uma das mulheres do castelo pegou essas roupas e levou-as como se fossem coisa impura que devia ser queimada.
Foi justamente essa imagem que se fixou na memória de Ulvhilde, quando viu as roupas do convento serem levadas nos braços estendidos da mulher como se fossem coisa feia e malcheirosa que apenas servia para queimar, não para vender ou dar para os pobres. Era como se ela, pela primeira vez, percebesse que não estava vivendo um sonho, que ela era realmente aquela mulher refletida no espelho polido que uma das mulheres do castelo, entre risadinhas, tinha trazido e colocado diante dela, enquanto uma outra mulher, de uma maneira especial, espetacular, colocava o manto vermelho sobre os ombros dela.
Ulvhilde se viu no espelho e considerou que era ela mesma. A imagem no espelho fazia todos os gestos que ela realizava: levantava o braço, ajeitava o prendedor de cabelo em prata ou botava o polegar no manto macio com aquela cor quente, vermelho de sangue. Ainda assim, não era ela mesma, visto que ela, tal como Cecília Rosa, estava impregnada da simplicidade da vida no convento. De repente, Ulvhilde podia até ver a sua amiga diante de si, em Gudhem, com a mesma clareza com que ela se via ali mesmo no espelho.
Depois, pela primeira vez, surgiu uma sombra sobre toda aquela sua felicidade por se sentir livre. Parecia injusto e até egoísta sentir tanta alegria, enquanto Cecília Rosa fora deixada sozinha com a bruxa de Gudhem e, além disso, ainda tinha muitos longos anos de prisão.
À noite, durante o banquete, Ulvhilde, por vezes, parecia tão feliz que, apesar da falta de hábito e pela sua timidez, conseguia rir alto das brincadeiras e das piadas, bastante grosseiras, dos homens. Mas, às vezes, ficava triste, ao pensar na sua amiga mais querida, em Gudhem, recebendo nessa hora o consolo da rainha. As palavras da rainha que melhor atingiram o coração de Ulvhilde, entretanto, foram aquelas quando ela disse que o pior da vida delas, das três amigas, já tinha passado. Uma vez, elas três, ainda muito jovens, eram amigas lançadas ao lixo, descartadas, em Gudhem. Mas as três se mantiveram juntas, jamais traíram a sua amizade. E amadureceram com o sofrimento, ficando mais sábias.
Até o momento, duas das três já estavam livres e, por isso, a alegria tinha de ser maior do que a tristeza pela terceira amiga ainda retida. Um dia não muito distante, Cecília Rosa seria também libertada. E, sem dúvida, a amizade de Ulvhilde e de Cecília Blanka para a última das amigas a ser libertada não iria diminuir. E então ainda restaria metade da vida delas para juntas gozarem a merecida liberdade.
O que Cecília Blanka deixou de utilizar como consolo ou alegria para Ulvhilde foram palavras a respeito da beleza dela. Cecília Blanka achou ser mais sensato não falar disso na ocasião. Era uma coisa que estaria muito além da capacidade de compreensão de Ulvhilde, ainda com a alma de noviça. E ainda por cima não lhe daria muita alegria.
Com o tempo, porém, Ulvhilde começaria a entender que, de um dia para o outro, a jovem do convento com quem ninguém se importava havia se transformado em uma das mulheres mais atraentes do reino. Era bonita, rica e amiga da rainha. Ulfshem não era nenhuma propriedade de se jogar fora, e em breve Ulvhilde assumiria sozinha plenos poderes sobre ela, sem ter nenhum pai rabugento ou membros implicantes da família querendo que ela se casasse com este ou aquele possível candidato. Ulvhilde era muito mais livre do que ela, no momento, poderia imaginar.
No dia seguinte, o séquito seguiu viagem para as praias do lago Vättern onde estava esperando por eles um pequeno barco negro, com o estranho nome de A Serpente. Os barqueiros eram altos e louros e pela fala descobriu-se que eram todos noruegueses. Faziam parte do esquadrão de segurança pessoal do rei, pois, como era do conhecimento geral, o rei Knut havia alistado quase só noruegueses para salvaguardar a sua vida no castelo de Nas. Alguns desses noruegueses eram amigos do rei desde o tempo do seu exílio ainda criança. Outros tinham se juntado nos últimos anos, sendo parentes folkeanos e erikianos da Noruega, que, por várias razões, tiveram que fugir de seu país. A Noruega estava sendo muito devastada pela guerra, numa disputa pelo poder real, tal como antes isso havia acontecido na Götaland Ocidental, na Götaland Oriental e na Svealand, durante mais de cem anos.
Era uma noite de verão excepcionalmente quente e totalmente sem vento, quando o conde e o séquito da rainha chegaram ao porto real do lago Vättern. Aí se separaram o conde e a rainha, mais Ulvhilde, dos escudeiros que voltaram para Skara. Os três entraram no pequeno barco negro que, a remos, se dirigiu então pelo espelho-d'água em direção ao castelo de Nas que ainda nem despontava no horizonte.
O conde sentou-se sozinho na proa, pois, como ele disse, tinha que pensar umas coisas e precisava ficar em paz. A rainha e Ulvhilde se sentaram na popa, junto do timoneiro que parecia ser o chefe dos noruegueses.
O coração de Ulvhilde pulsava forte quando o barco se fez ao mar e os enormes noruegueses, experientes, lançaram seus remos na água espelhada. Ela não se lembrava de ter andado de barco antes, nem quando era criança, embora certamente isso tivesse acontecido alguma vez. Estava fascinada e seguia atenta os movimentos dos remos na água escura, inspirando o cheiro forte do alcatrão, do couro e do suor dos homens. Na praia que eles acabaram de deixar cantou um rouxinol, ouvindo-se o seu canto bem longe por cima das águas do lago. Os remos e o couro rangiam, e as pequenas ondulações se formavam junto do leme a cada remada que os oito noruegueses davam com grande força, embora não parecessem estar se esforçando muito.
Ulvhilde ficou com um pouco de medo e segurou a mão de Cecília Blanka. Já tinham entrado um bom pedaço mar adentro, tudo decorrendo muito rápido, e ela se sentiu como se estivesse dentro de uma pequena casca de noz, envolvida por uma grande boca negra.
Preocupada, perguntou a Cecília Blanka se não era perigoso viajar por um mar tão grande, se distrair e acabar se perdendo naquela imensidão. Cecília Blanka nem teve tempo de responder. O timoneiro, atrás delas, ouviu a pergunta e repetiu-a para os seus oito remadores que caíram num riso tão violento que dois deles acabaram rolando para o lado. Ainda demorou um bocado antes de todos se acalmarem.
— Nós noruegueses já velejamos por mares maiores do que o Vättern — explicou o timoneiro para Ulvhilde. — E uma coisa posso garantir a você, minha jovem. Nós não vamos nos perder aqui no pequeno Vättern que é apenas um lago interior. Seria muito difícil isso nos acontecer.
Ao anoitecer, começou a esfriar e Cecília Blanka e Ulvhilde tiveram que se aconchegar nos seus mantos. Estavam se aproximando da fortaleza, situada bem na ponta sul de uma ilha, a Visingsõ. Justo nessa ponta, a praia subia, íngreme, na direção das duas torres ameaçadoras da fortaleza e do muro alto entre elas. Numa das torres, flutuava uma bandeira com algo dourado no meio que Ulvhilde imaginou serem as três coroas.
Ela ficou com medo do aspecto ameaçador da fortaleza escura, mas também pelo fato de em breve ficar diante do assassino de seu pai, o rei Knut. Não dera a esse fato nenhuma importância até aquele momento, como se ela quisesse prolongar ao máximo e se agarrar àquilo que de bom a liberdade lhe oferecia. Encontrar-se com o rei Knut era um ato que, na realidade, ela gostaria de evitar, achou ela agora, quando já era tarde demais e a quilha do barco já entrava com estrondo um bom pedaço na areia e todos começaram a preparar-se para descer.
Como se Cecília Blanka tivesse adivinhado os pensamentos da sua amiga, ela apertou a mão dela um pouco mais forte, segredando que certamente seria fácil o encontro com Knut, que não havia nada com que se preocupar.
O próprio rei desceu até a praia para receber a sua rainha e o seu conde e, como se só naquele momento se tivesse lembrado, a jovem convidada sverkeriana.
Depois de saudar o seu conde e a sua rainha com toda a cortesia que o cerimonial exigia, ele virou-se para Ulvhilde e olhou para ela pensativo, enquanto ela, cheia de medo e muito tímida, baixou seu olhar. Aquilo que ele viu, no entanto, inesperadamente para todos menos para a sua esposa, lhe agradou de imediato. Knut avançou um passo na direção de Ulvhilde, levantou com a mão o queixo dela e olhou seu rosto, mas com um olhar muito distante do ódio. Pareceu a todos que ele teve prazer no que viu.
Mas suas palavras de boas-vindas para Ulvhilde surpreenderam até mesmo Birger Brosa.
— Nós a saudámos com alegria e lhe damos as boas-vindas ao nosso castelo, Ulvhilde Emundsdotter. Aquilo que aconteceu uma vez entre nós e o seu pai está enterrado. Era tempo de guerra e agora o tempo é de paz. Por isso, queremos que saiba que para nós é uma alegria o fato de poder saudá-la como a senhora de Ulfshem e lhe dizer que aqui estará segura entre amigos como nossa convidada.
Demorou um pouco o seu olhar em Ulvhilde antes de, repentinamente, oferecer-lhe o seu braço e em seguida dar o outro braço para a rainha, e junto com as duas ir em frente de todos, subindo para o castelo.
O tempo em Nas foi curto, mas para Ulvhilde ainda assim longo, já que teve de aprender mil pequenas coisas sobre as quais não fazia a mínima idéia. Comer não era apenas comer, mas, sim, seguir uma série de regras como em Gudhem, embora as regras aqui fossem ao contrário. O mesmo acontecia com o falar e o cumprimentar. Em Gudhem, Ulvhilde tinha aprendido a não falar, a não ser quando alguém falasse primeiro com ela. Aqui, em Nas, era o contrário, a não ser quando se tratasse do rei, da rainha e do conde. Por isso, houve muitos constrangimentos à volta de casos que eram pequenos e simples. Ulvhilde provocou uma certa desorientação nos primeiros dias, sempre que ela cumprimentava os cocheiros e os cozinheiros e as camareiras da rainha, antes de eles a cumprimentarem primeiro. O pior no início para ela foi a questão de poder ser a primeira a falar, visto que parecia estar entranhado nela ser preciso esperar de cabeça baixa até que falassem primeiro com ela.
A liberdade não era apenas uma coisa que existia como o ar e a água. Era uma coisa que precisava ser aprendida.
Durante esse tempo, Cecília Blanka pensou muitas vezes numa andorinha que ela encontrou ainda criança no jardim do seu pai. A andorinha estava caída no chão e piou demais quando Cecília Blanka pegou-a, mas silenciou logo que sentiu o calor das mãos dela à volta do seu pequeno corpo. Depois, ela deitou a andorinha numa casca de bétula, com um pouco de lã bem macia e dormiu durante duas noites com a pequena ave junto do seu corpo. Na segunda manhã, levantou-se bem cedo, levou a andorinha para o jardim e jogou-a direto no ar. Com um grito de saudação para com a liberdade readquirida, a ave subiu no ar de imediato em direção ao céu e desapareceu. Como é que soube que a andorinha podia voar de novo, ela nunca entendeu. Apenas sentiu que estava fazendo a coisa certa.
Da mesma maneira, estava agora olhando para Ulvhilde que, em contraste com ela e com Cecília Rosa, chegou a Gudhem mais como criança do que adolescente. Sem dúvida, devia ter chegado com menos de onze anos. Por isso, todas aquelas regras atrasadas e ruins do mundo fechado do convento se entranharam profundamente na sua mente, de tal maneira que, no mundo livre, ela ficou precisando de ajuda, exatamente como a andorinha quando caiu no chão. Não conseguia entender nem que era uma bonita mulher. Pertencia a um lado da família sverkeriana de que Kol e Boleslav eram os cabeças, sendo que as mulheres e as jovens desse lado da família eram parecidas com Ulvhilde, de cabelos negros e de olhos escuros, um pouco oblíquos. Mas Ulvhilde nem via a sua própria beleza.
Cecília Blanka ainda não tinha tocado na situação de Ulfshem, para onde seguiria em breve com Ulvhilde, apesar de o rei ter resmungado a respeito dessa viagem. Mas deixar Ulvhilde sozinha na boca de um folkeano que seria despejado e de seus dois filhos, certamente muito gananciosos, nem pensar. Ela tinha conhecido um pouco os dois rapazes. O mais velho chamava-se Folke e era um homem com um falar tão impetuoso e irascível que, normalmente, encurta a vida e faz da cabeça uma barreira para a língua. O mais jovem chamava-se Jon e estivera na escola com o seu parente Torgny Lagman. Era tranqüilo, de falar baixo, de um jeito que demonstrava que não tivera uma vida fácil como irmão mais novo de um futuro homem de guerra, que, certamente, como os irmãos tinham por costume fazer, ensaiava a maior parte da sua futura vida de guerreiro em cima do seu irmão mais novo e mais fraco.
Cecília Blanka pensou muito no que poderia acontecer a uma mulher tão bonita como Ulvhilde, e tão rica, mas ao mesmo tempo tão inocente, entre homens experientes. Não seria como jogar uma ovelha aos lobos em Ulfshem?
Cautelosamente, ela tentou falar com Ulvhilde a respeito do que estava para acontecer. Também insistiu para que as duas andassem a cavalo juntas, todos os dias. Por muito que Ulvhilde reclamasse do seu dolorido traseiro, era preciso que ela se habituasse ao cavalo como meio de se movimentar. Durante esses passeios, Cecília Blanka tentou repetir a conversa que as três tiveram em Gudhem, quando elas, algumas vezes, falaram a respeito do amor que Cecília Rosa sentia pelo seu Arn ou quando costuraram os planos para salvar a irmã Leonore e o monge Lucien. Mas era como se Ulvhilde não gostasse dessas conversas, como se isso a deixasse com medo e, então, fingia estar mais interessada em falar de selas e dos passos de cavalaria do que de amor e de homens.
Mais receptiva para essas conversas ela parecia se mostrar quando as duas se divertiam, todos os dias, com os dois filhos de Cecília Blanka que agora estavam com cinco e três anos de idade. O amor entre mãe e filhos parecia interessar Ulvhilde muito mais do que o amor entre homem e mulher, ainda que o primeiro não pudesse existir sem o segundo.
Em fins de setembro, quando a ceifa do feno já tinha terminado na Götaland Ocidental e na Oriental, Cecília Blanka e Ulvhilde viajaram para Ulfshem, com um séquito de escudeiros acompanhantes. Velejaram rápido com os noruegueses para o norte até Alvastra e daí seguiram por um caminho largo até Bjälbo e, depois, na direção de Linkõping e, em algum lugar, a meio caminho, elas encontrariam Ulfshem.
Ulvhilde começou a se achar um pouco melhor em cima da sela e não reclamou tanto no caminho, embora fossem dois dias de viagem a cavalo. E quanto mais perto elas chegavam de Ulfshem, mais silenciosa e confusa ela ficava.
Ao ver a casa-grande do burgo, Ulvhilde logo reconheceu o lugar, pois as novas casas foram construídas onde as antigas estavam e, mais ou menos, do mesmo jeito. Os grandes freixos à volta do burgo ainda eram os mesmos da sua infância, mas muitas outras coisas pareciam para ela menores do que eram na sua lembrança.
Elas já eram esperadas, evidentemente, visto que uma rainha nunca chegava de visita sem antes mandar um mensageiro. Quando o séquito chegou à vista, logo em Ulfshem aumentaram o movimento e a vida, com o povo da casa, os escudeiros e os escravos se perfilando na praça do burgo para receber, saudar e levar até os visitantes o pedaço de pão de boas-vindas, antes de eles entrarem na casa.
Cecília Blanka era uma mulher de olho vivo. Aquilo que ela viu de imediato seria notado mais cedo ou mais tarde por todos, exceto, eventualmente, pela inocente Ulvhilde. O senhor Sigurd Folkesson e seus dois filhos, Folke e Jon, que aguardavam ao lado dele, pareciam, aos olhos de Cecília Blanka, estar mudando à medida que ela e Ulvhilde se aproximavam da praça.
Se os folkeanos pareciam a distância estar de má vontade ou quase com aspecto de inimigos, logo a sua presença se converteu, se suavizou rápido, e tiveram então a preocupação de não demonstrar a sua surpresa, ao ver Ulvhilde descer do cavalo com o seu majestoso manto inimigo.
O senhor Sigurd e o filho mais velho, Folke, logo avançaram para dar assistência a Cecília Blanka e Ulvhilde, quando elas se apresentaram para receber o pedaço de pão e as saudações da casa.
Ainda que tivessem sido pagos mais do que seria devido, com a possibilidade de mudar para um burgo maior do que Ulfshem por uma parte apenas da prata recebida, prata que Birger Brosa havia conseguido através de pilhagens na cruzada, ainda assim era uma questão de honra. Ninguém podia achar que era honroso para folkeanos ter de mudar por causa de uma jovem solteira da família sverkeriana.
Mas Ulvhilde não era aquilo que eles esperavam. Isso porque ao imaginar as mulheres dos inimigos, raramente alguém podia pensar em beleza.
Sigurd Folkesson tinha pensado em fazer uma saudação com palavras ásperas, mas do que ele pensou nada saiu e o que saiu da sua boca foram mais gaguejos e zumbidos, ao fazer a saudação de boas-vindas, enquanto os seus dois filhos ficavam de queixo caído, sem poder desviar os olhos de Ulvhilde.
Quando o confuso discurso de boas-vindas pareceu chegar ao fim, Cecília Blanka, tal como havia pensado, para salvar Ulvhilde do embaraço, apressava-se para falar rapidamente as palavras exigidas como resposta. Mas Ulvhilde antecipou-se.
— Eu saúdo vocês, folkeanos, Sigurd Folkesson, Folke e Jon, com alegria, no lar da minha infância — começou Ulvhilde, sem o mínimo embaraço. Sua voz era tranqüila e clara. —Aquilo que antes aconteceu, uma vez, entre nós está enterrado. Isso porque era tempo de guerra e agora temos paz. Portanto, saibam vocês que é para mim uma alegria saudá-los e recebê-los em Ulfshem e que me sinto em segurança em tê-los como meus amigos e convidados.
As palavras dela provocaram uma impressão tão forte que nenhum dos folkeanos presentes se recuperou para conseguir responder. Depois, Ulvhilde estendeu o seu braço para Sigurd Folkesson para que ele a conduzisse na casa de sua propriedade. O filho mais velho, Folke, gradualmente, recuperou-se e ofereceu o seu braço à rainha.
A caminho do grande portão duplo em carvalho que servia de entrada para Ulfshem, Cecília Blanka sorria, aliviada, e, ao mesmo tempo, divertida. As palavras solenes com que Ulvhilde realmente surpreendeu os seus convidados folkeanos, ela as tomara emprestado, sem vergonha, do rei. Foi quase literal, como que um manuscrito do convento, as palavras com que o rei Knut, ainda recentemente, tinha saudado a própria Ulvhilde como convidada em Nas.
Ulvhide aprendia rápido, como todas obrigadas a sofrer no convento, pensou a rainha. Mas não servia de muito ser apenas capaz de aprender rápido. Era preciso também ter bom senso para utilizar o aprendido. E era justamente isso que Ulvhilde havia demonstrado, de uma forma tão forte quanto surpreendente.
A andorinha voava, ascendendo com asas rápidas e seguras na direção do céu.
REALMENTE FOI A VONTADE de Deus que os cristãos perdessem a Terra Santa, então, Ele indicou um caminho tão longo e cheio de curvas até a grande derrota para Saladino que, a cada pequeno detalhe decisivo, ficou quase impossível reconhecer a Sua vontade.
O primeiro grande passo rumo à catástrofe foi, portanto, a derrota dos cristãos contra Saladino em Marj Ayyoun, no ano da graça de 1179.
Tal como o conde Raymond III, de Trípoli, disse para Arn, quando a amizade deles começou e quando os dois tentaram afogar a sua tristeza no castelo Beaufort, dos hospitalários, podia-se considerar a derrota de Marj Ayyoun apenas como mais uma de uma infinita série de batalhas num período de quase cem anos. Nenhum dos lados podia contar sempre com a vitória. Além disso, ficava-se entregue ao fato de se ter ou não sorte, de o tempo e o vento ajudarem ou não, de as reservas chegarem ou não a tempo, de as decisões serem inteligentes ou idiotas de cada um dos lados e, para os que afirmavam seriamente que isso era decisivo, a vontade de Deus permanecia inescrutável. De qualquer forma que se quisesse explicar a sorte na guerra e de qualquer maneira que se pedisse ao mesmo Deus, às vezes se perdia e às vezes se ganhava.
Mas entre os cavaleiros do exército do rei Balduíno IV, feito prisioneiro na guerra de Marj Ayyoun, encontrava-se um dos melhores barões da classe dominante no Ultramar, Balduíno d'Ibelin. Se justo este homem tivesse escapado à prisão, justo dessa vez, toda a história da presença dos cristãos no Ultramar teria sido escrita de outra maneira. Com certeza, os cristãos teriam ficado na região mais algumas centenas de anos, possivelmente teriam conseguido fazer frente às invasões dos mongóis e, assim, teriam permanecido na região mais mil anos ou para sempre.
No entanto, isso teria sido impossível de imaginar, depois da derrota, de modo algum decisiva, de Marj Ayyoun. Se um homem na posição de Balduíno d'Ibelin acabasse prisioneiro, isso, evidentemente, era um vexame e custaria caro, mas de forma alguma seria um fato decisivo e definitivo.
Todavia, Saladino era na época o guerreiro comandante que mais compreendia, comparado a todos os outros, a necessidade de obter informações sobre o inimigo. Seus espiões estavam espalhados por todo o Ultramar. Nada lhe escapava que interferisse no poder em Antioquia, Trípoli ou Jerusalém.
Por isso, sabia que podia ser muito bem pago para liberar Balduíno d'Ibelin, e pediu a soma astronômica de cento e cinqüenta mil besantes em ouro, o maior resgate já solicitado por qualquer dos lados na guerra que já durava há quase cem anos.
O que Saladino sabia e o que o levou a determinar esse preço, era que Balduíno dlbelin seria o próximo rei de Jerusalém. Os dias do leproso rei Balduíno IV estavam contados e ele já uma vez tinha sido malsucedido na tentativa de arranjar um sucessor através do casamento da sua irmã Sibylla com William Longsword. Este Longsword, porém, logo morreu daquela que seria, sem dúvida, uma das mais vergonhosas doenças que assolavam terrivelmente a corte de Jerusalém e que era chamada de doença dos pulmões.
Depois da morte de William Longsword, Sibylla deu à luz um filho a que ela deu o nome do irmão, Balduíno. Mas ela estava apaixonada por Balduíno dlbelin e o rei nada tinha contra essa aliança. A família Ibelin era das mais respeitadas entre a classe de proprietários de terras no Ultramar. E como esses barões, normalmente, desconfiavam muito da corte em Jerusalém, daquela vida dissoluta e dos aventureiros recém-chegados que nela vinham procurar a sua sorte, o casamento entre Sibylla e Balduíno dibelin iria fortalecer a posição da corte e diminuir os antagonismos entre os tais proprietários seculares da Terra Santa.
Infelizmente para Balduíno d'Ibelin, Saladino estava muito bem informado a respeito disso. E como ele podia argumentar que tinha em seu poder praticamente um rei, pediu um resgate real.
Porém, o resgate de cento e cinqüenta mil besantes em ouro era mais do que a soma de valores de todos os pertences da família Ibelin e um empréstimo dessa ordem só os templários podiam fazer. Mas os templários eram muito rígidos nos negócios e viram poucas possibilidades de conseguir alguma coisa de valor em troca do empréstimo dessa altíssima importância.
Naquela parte do mundo existia apenas um homem que, eventualmente, podia dispor de uma tal fortuna, que era o imperador Manuel, de Constantinopla.
Balduíno dibelin solicitou junto de Saladino a sua liberdade contra o juramento por sua honra de que conseguiria o empréstimo ou então voltaria para a prisão. Saladino, que não tinha razão nenhuma para duvidar da palavra de um respeitável cavaleiro, aceitou a proposta, e assim Balduíno d'Ibelin viajou a Constantinopla para tentar convencer o imperador bizantino a lhe emprestar o dinheiro.
Também o imperador Manuel viu em Balduíno d'Ibelin o próximo rei de Jerusalém e não achou nada inconveniente que através de uma despesa certamente vultosa viesse a dominar o futuro rei de Jerusalém pelo resto da vida dele. Por isso, emprestou todo o ouro exigido a Balduíno que, em seguida, viajou para Ultramar, pagou a Saladino e pôde voltar a Jerusalém para dar a boa notícia da sua libertação e recomeçar o seu namoro com Sibylla onde havia interrompido.
Mas o que nem o imperador Manuel, nem Saladino, nem Balduíno tinham previsto era o comportamento das mulheres na corte de Jerusalém diante de homens com grandes dívidas. A mãe do soberano e de Sibylla, a permanente intriguista Agnes de Courtenay, não teve dificuldade em convencer a sua filha do absurdo de um namoro que envolvia uma dívida de cento e cinqüenta mil besantes em ouro.
Um dos muitos amantes de Agnes de Courtenay era um cruzado que jamais tinha trocado golpes de espada com qualquer inimigo, antes preferia realizar suas conquistas na cama. Seu nome era Amalrik de Lusignan, e, embora ele não fosse homem de guerra, não era lento em ver as possibilidades no jogo de poder dentro da corte. Começou por falar muito bem diante de Agnes a respeito do seu irmão mais novo, Guy, que devia ser um belo homem e nada mau como amante.
Então, enquanto Balduíno d'Ibelin estava com o imperador Manuel, em Constantinopla, Amalrik de Lusignan viajou até o reino dos francos para buscar o seu irmão Guy.
Por isso, quando Balduíno dlbelin, depois de muitas dificuldades, voltou a Jerusalém, ficou sabendo que o amor de Sibylla por ele tinha arrefecido significativamente e que o recém-chegado Guy de Lusignan já havia passado pela cama dela várias noites.
A diferença entre Guy de Lusignan e Balduíno dlbelin como rei de Jerusalém seria aquela entre a escuridão e a luz ou entre o fogo e a água. Saladino, sem o saber, tinha encurtado o caminho para a sua vitória final. Se bem que, naquele momento, ele não podia reconhecer essa situação, nem ninguém.
Para os templários, a derrota em Marj Ayyoun teve também grande importância, visto que o grão-mestre Odo de Saint Amand ficou no grupo dos que sobreviveram e, após a batalha, foram feitos prisioneiros. Normalmente, todos os hospitalários e templários eram decapitados na prisão. O seu Regulamento impedia que fosse comprada a sua libertação, pago o seu resgate, e, por isso, não tinham nenhum valor econômico como prisioneiros. Além disso, eles constituíam o grupo dos melhores cavaleiros cristãos e, portanto, sob o ponto de vista de Saladino, era melhor cortar o pescoço deles do que trocá-los por prisioneiros sarracenos, que era a segunda possibilidade depois do resgate.
Com um grão-mestre, porém, na opinião de Saladino, a situação era diferente. Os grão-mestres, tanto dos hospitalários quanto dos templários, detinham todo o poder nas mãos. Aquilo que eles decidiam valia para todos os seus irmãos da ordem, obrigados a obedecer sem questionar. Um grão-mestre poderia, portanto, ser de algum valor, se fosse possível convencê-lo a colaborar.
Mas, com Odo de Saint Amand, Saladino não chegou a lugar nenhum. O grão-mestre fez referência ao Regulamento que proibia o pagamento de resgates para os templários, quer fossem sargentos, comandantes de fortalezas ou grão-mestres. E deixar que a sua troca fosse feita contra um certo número de sarracenos, ele considerava apenas como uma maneira de contornar o Regulamento e, por isso, uma manobra tão pecaminosa quanto desprezível. Ademais, o tempo de prisão para Odo de Saint Amand em Damasco foi curto. Ao fim de um ano, sem ficar claro o porquê, ele morreu.
O novo grão-mestre da Ordem dos Templários foi, como era de esperar, Amoldo de Torroja, detentor da posição mais elevada como Mestre de Jerusalém.
Como o poder na Terra Santa estava dividido entre a corte em Jerusalém, as duas ordens sagradas de cavaleiros, os barões e os proprietários de terras, a escolha do grão-mestre tinha grande importância, assim como a sua reputação como homem de guerra, líder religioso e negociador. Ainda importância maior tinha o fato de ele pertencer ao grupo dos cristãos que achavam que todos os sarracenos deviam morrer ou ao grupo dos que achavam que o poder cristão na Terra Santa se perderia se fosse escolhido essa linha absurda.
Amoldo de Torroja havia feito uma longa carreira na Ordem dos Templários em Aragão e na Provence, antes de chegar à Terra Santa. Era muito mais um homem de negócios e de poder do que um homem de guerra como o seu antecessor, Odo de Saint Amand.
Caso se avaliasse essa alteração de poderes sob o ponto de vista de Saladino, chegava-se à conclusão de que o poder real em Jerusalém estava para cair nas mãos de um aventureiro inexperiente que não oferecia qualquer ameaça no campo de batalha. E que a poderosa Ordem dos Templários tinha em Amoldo de Torroja um líder que era mais homem de compreensão e um negociador do que o seu antecessor, um homem que era parecido com o conde Raymond, de Trípoli.
Para Arn de Ghotia, senhor de Gaza, a nomeação de Amoldo de Torroja para grão-mestre teve um efeito imediato. Arn foi chamado a Jerusalém para que, sem demora, assumisse a função de Mestre de Jerusalém.
Para os dois monges cistercienses, o padre Louis e o irmão Pietro, que na época chegaram a Jerusalém como enviados especiais do Santo Padre, em Roma, o encontro foi uma mistura de violentas decepções e boas surpresas. No entanto, quase nada foi como eles haviam esperado.
Como todos os francos recém-chegados, seculares ou religiosos, eles imaginavam a cidade das cidades como um lugar tranqüilo com ruas de ouro e mármore branco. O que encontraram foi uma confusão indescritível de gente aglomerada e tagarela, falando várias línguas, ruas estreitas e quase todas cheias de lixo. Tinham, como todos os cistercienses, uma idéia a respeito da organização militar irmã, a dos templários, como um bando de brutamontes incultos que mal podiam ler o padre-nosso em latim. Quem eles encontraram primeiro foi o Mestre de Jerusalém, que, é claro, os recebeu falando em latim, e com quem eles, quase de imediato, enquanto esperavam pelo grão-mestre, que seria quem eles deviam encontrar primeiro, acabaram tendo uma interessante discussão sobre Aristóteles.
A própria sala do Mestre de Jerusalém fazia lembrar muito a de um mosteiro cisterciense. Aquele secular e às vezes profano aparato que eles conseguiram entrever em outros lugares dos templários na cidade ali não existia. Em vez disso, uma longa arcada com vista para a cidade que podia ser uma parte do claustro de qualquer mosteiro cisterciense e as paredes todas pintadas de branco e sem imagens pecaminosas. Seu anfitrião serviu-lhes uma refeição muito boa, ainda que nada viesse de animais de quatro patas ou que os cistercienses estivessem impedidos de comer.
O padre Louis era um bom observador, bem orientado desde muito jovem pelos melhores professores cistercienses de Citeaux e desde há muitos anos enviado da Ordem Cisterciense junto do Santo Padre. Por isso, se surpreendeu, em especial, com aquele pequeno homem que ele sabia antecipadamente ser o Mestre de Jerusalém, título que pareceu ao padre Louis completamente grotesco na sua presunção, tampouco se parecia com aquele que ele achava estar vendo. Tinham lhe dito que Arn de Gothia era um guerreiro, com um renome excepcional, que ele havia sido o vencedor na batalha de Monte Gisard onde os templários, apesar de em número muito menor, conseguiram vencer sobre o próprio Saladino. Por isso, talvez ele esperasse encontrar o correspondente comandante de exército Belisarius, em qualquer hipótese, um militar que mal saberia falar de outra coisa que não fosse guerra. Mas se não fosse por várias cicatrizes brancas no rosto e nas mãos desse Arn de Gothia, o padre Louis, de olhar suave e de tom de voz conciliatório, viu antes, diante de si, um irmão de Citeaux. E não pôde evitar de pescar nessas águas um pouco mais com perguntas, achando que podia entender melhor, pelo menos, um dos lados da história, quando soube que esse templário, de fato, tinha sido educado num mosteiro. Então, era como se visse transformado em realidade o sonho que o consagrado São Bernardo tivera uma vez de ver um guerreiro na guerra santa que, ao mesmo tempo, seria monge. Na verdade, nunca o padre Louis tinha se deparado antes com a concretização desse sonho.
Também não pôde deixar de notar que seu anfitrião vivia apenas a pão e água, apesar de todas as outras bebidas que estavam na mesa para a satisfação dos convidados. Esse templário de alto nível estava cumprindo penitência por algum motivo. Mas por muito que o padre Louis quisesse saber o que estava acontecendo, esse primeiro encontro jamais seria a oportunidade certa. Ele era o enviado do Santo Padre e trazia uma bula que certamente não seria bem recebida. Além disso, esses templários eram reconhecidos pela sua arrogância. Aquele que era o grão-mestre, que em breve iria encontrar, com certeza se achava como o mais próximo do Santo Padre e, portanto, o segundo no mando. E aquele que era o chamado Mestre de Jerusalém seria, portanto, nada menos do que arcebispo. Havia uma boa razão para recear que esses homens não vissem num abade algum tipo de poder superior.
Também não seria de esperar que eles entendessem a posição desse abade que trabalhava diretamente com o Santo Padre, era seu conselheiro e enviado especial.
Quando o grão-mestre, finalmente, compareceu ao encontro, os restos de comida já tinham sido retirados, estava tudo limpo, e os presentes discutiam numa conversa agradável a partilha filosófica da ciência, da sabedoria e da fé, e as idéias de que alguma coisa que sempre se transformava em realidade não poderia ficar apenas nas altas esferas. Justo um tipo de conversa que o padre Louis jamais poderia pensar ter com um templário.
Amoldo de Torroja pediu desculpas pela demora, mas tinha sido chamado pelo rei de Jerusalém a quem, aliás, precisava voltar em breve, junto com Arn de Gothia. No entanto, não queria deixar passar essa primeira noite dos convidados cistercienses em Jerusalém sem os encontrar e ouvir qual era o assunto da sua visita. Segundo a primeira impressão do padre Louis, esse grão-mestre era um homem que também podia ser encontrado entre o pessoal da embaixada do imperador em Roma, um diplomata e negociador bem flexível. De resto, ele também não era nenhum grosseiro Belisarius romano.
Todavia, surgia agora um problema delicado, segundo o padre Louis, que era ter de entrar direto na questão. Mas os seus anfitriões não lhe deixavam outra escolha. Não ficaria bem falar sobre generalidades nesse primeiro encontro e durante pouco tempo para voltar no dia seguinte com um decreto pesado.
Portanto, ele explicou tudo diretamente e sem rodeios, e os seus dois anfitriões o ficaram escutando atentamente, sem interrompê-lo e sem uma alteração na expressão do rosto que pudesse indicar o que estavam pensando.
Da Terra Santa tinha viajado o arcebispo William de Tiro para o terceiro Concilio de Latrão, em Roma, tendo apresentado então graves reclamações tanto contra templários quanto contra hospitalários.
A questão, segundo o arcebispo William, era, por parte dos templários, o trabalho constante e conseqüente contra a Santa Igreja Romana. Se alguém fosse excomungado na Terra Santa, mesmo assim podia ser enterrado junto dos templários. E antes disso poderia até entrar para a Ordem do Templo. Se um bispo interditasse toda uma aldeia e retirasse a assistência da Igreja a todos os pecadores dessa aldeia, os templários mandavam os seus próprios padres para realizar os serviços religiosos. Todas estas práticas ruins, que em grande parte levavam a considerar que o poder da Igreja era fraco ou quase ridículo, decorria do fato de os templários não deverem obediência aos bispos e, portanto, não poderem ser excomungados, nem sequer punidos, pelo Patriarca de Jerusalém. O que fazia com que a questão se tornasse realmente séria era o fato de tanto os templários quanto os hospitalários receberem pagamento por esses serviços. O terceiro concílio e o Santo Padre, Alexandre III, haviam decidido, portanto, que todos esses negócios deviam parar de imediato, ainda que o arcebispo William não tivesse recebido apoio para as suas propostas de diversas punições para as duas ordens de cavalaria por seus crimes contra a instância máxima da Igreja, reinante sobre todas as pessoas no mundo.
O padre Louis trazia uma bula pontifícia, timbrada com sigilo, que ele apresentou no momento, abrindo-a sobre a mesa de madeira, diante de todos. Na bula, estava escrito tudo aquilo que ele acabava de falar. Assim, por último, qual a mensagem que ele devia levar para o Santo Padre?
— Que a Ordem dos Templários, desde o momento em que nós recebemos a palavra do Santo Padre, vai se ajustar — respondeu Amoldo de Torroja, suavemente. — Isso vale desde o momento em que eu, o grão-mestre, expresso nossa submissão. Nós vamos, o mais rápido possível, retransmitir essa nova ordem. Poderá demorar, mas não pretendemos perder tempo desnecessariamente. A nossa decisão já está valendo, desde o momento em que eu o digo, pois não acho que o meu amigo e irmão Arn de Gothia tenha qualquer outro entendimento diferente do meu sobre este assunto; certo, Arn?
— Não, senhor, de forma alguma — respondeu Arn, no mesmo tom de voz, tranqüilo. — Nós, templários, fazemos todos os tipos de negócios, e os negócios são importantes para custear uma guerra permanente e cara. Amanhã, irei contar mais sobre este assunto para o senhor, padre Louis. Mas fazer negócios com a religião vai contra as nossas regras e a isso damos o nome simonia. Considero, pessoalmente, esses negócios de que o senhor fala, padre, como simonia. Por isso, tenho total compreensão, tanto pelas reclamações do arcebispo William quanto pela decisão do Santo Padre.
— Mas então, não entendo... — disse padre Louis, não só aliviado com a simples rapidez do esclarecimento, mas também surpreso. — Como foi possível esse pecado existir, se vocês dois estão claramente contra?
— O nosso antecessor, o grão-mestre Odo de Saint Amand, que a sua alma esteja no Paraíso, tinha outro entendimento a respeito desse assunto, diferente do nosso — respondeu Amoldo de Torroja.
— Mas vocês dois, como irmãos superiores que eram, não podiam criticar o seu grão-mestre por essa vergonha, caso fossem contra? — perguntou o padre Louis, boquiaberto.
Perante esta pergunta, ele recebeu apenas dos dois um sorriso, mas não teve nenhuma resposta.
Arn chamou, então, um cavaleiro, dando-lhe instruções para conduzir o padre Louis e o irmão Pietro, que não se manifestou nem uma única vez durante a conversa, aos seus alojamentos. Pediu desculpas, dizendo que era obrigado a interromper o encontro, mas o rei queria vê-los, ao grão-mestre e ao Mestre de Jerusalém, de imediato. Assegurou que seria um anfitrião melhor no dia seguinte. Com isso o grão-mestre se levantou e abençoou seus dois convidados religiosos, para espanto e ressentimento do padre Louis.
Os dois cistercienses foram conduzidos aos seus alojamentos, não sem um certo erro, visto que, de início, foram parar em quartos destinados para convidados seculares, com azulejos sarracenos e fontes, antes de seguir para os alojamentos corretos, recebendo cada um a sua cela, com azulejos brancos, do mesmo tipo em que eles, normalmente, habitavam.
Arnoldo de Torroja e Arn se apressaram, então, rumando para o alojamento noturno do rei. No caminho, não tiveram tempo para falar muito sobre a bula do papa, mas, de qualquer forma, concordavam sobre a questão. Seriam recursos a menos, mas, ao mesmo tempo, seria uma satisfação se desvencilhar desses negócios que ambos consideravam extremamente duvidosos. E ainda melhor porque a proibição vinha direto de uma instrução do Santo Padre e poderia ser esfregada no rosto de todos os que, possivelmente, iriam ficar descontentes.
A sala particular do rei era pequena e escura, visto que ele próprio pouco podia se movimentar e ver. Ele os aguardava no seu trono com cortinas de musselina, de maneira que, do lado de fora, apenas se via a sua silhueta. Havia rumores de que já tinha perdido as duas mãos.
Na sala, existia apenas um único assistente, um núbio muito alto, que era surdo e mudo e estava sentado em cima de algumas almofadas, encostado a uma das paredes da sala, com o olhar fixo no seu patrão meio escondido para poder interferir ao menor sinal que só ele e o seu dono entendiam.
Arnoldo de Torroja e Arn chegaram ao lado um do outro, ambos fizeram uma vênia diante do rei, sem nada dizer e se sentaram depois em duas almofadas de couro egípcias diante do inusitado trono. O rei, que tinha pouco mais de vinte anos, falou para eles num tom de voz muito fraco.
— Estou satisfeito em ver que os dois líderes da Ordem dos Templários vieram ao meu chamado — começou ele, mas se interrompeu, tossindo e fazendo um sinal que seus convidados não entenderam. O escravo núbio avançou e entregou qualquer coisa por trás da cortina azul que eles também não entenderam o que era. E ficaram aguardando em silêncio.
— Embora eu ainda esteja longe da morte, mais do que alguns acreditam e esperam — continuou o rei —, não me faltam preocupações. Vocês, templários, são a coluna vertebral da defesa da Terra Santa e eu gostaria de discutir duas coisas com vocês, sem haver mais ouvidos por perto. Por isso, vou falar numa linguagem a que eu, em outras circunstâncias, daria um tratamento melhor. Está bem para vocês, templários?
— Perfeitamente, senhor — respondeu Arnoldo de Torroja.
— Ótimo — reagiu o rei, mas foi interrompido novamente com um ataque de tosse, só que, desta vez, não fez nenhum sinal para o escravo e prosseguiu logo. —A primeira questão diz respeito ao novo patriarca de Jerusalém. A outra questão diz respeito à situação militar. A mim agrada tomar primeiro a questão do patriarca. Em breve, virá um novo patriarca para substituir Amalrik de Nesle que está às portas da morte. Parece que a questão é da Igreja, mas, se entendi bem, é também um direito de Agnes, minha mãe; portanto, meu direito. Nós temos dois candidatos, Heraclius, arcebispo de Cesaréia, e William, arcebispo de Tiro. Vamos sopesar os prós e os contras. William é inimigo dos templários, segundo entendi, mas um religioso de cuja honradez ninguém duvida. Heraclius é, para falar honestamente, agora que ninguém nos ouve, um trapaceiro da pior espécie, aqui, no nosso país, um garoto de coro fugitivo ou coisa parecida e, além disso, conhecido pela sua vida pecaminosa. Além disso, ainda, amante da minha mãe, um entre muitos, sem dúvida. No entanto, parece que ele não está entre seus inimigos. Antes pelo contrário. Como vocês vêem, existem muitas pedras menos preciosas pesando na balança que temos diante de nós. O que é que vocês pensam do caso?
Era claro que caberia a Arnoldo de Torroja responder e é claro que, para ele, era difícil dar uma resposta direta. Enquanto divagava longamente sobre a vida, a vontade inescrutável de Deus e outros temas, o que significava apenas que ele estava querendo ganhar tempo para pensar no que, de fato, devia dizer, surpreendia-se Arn diante do jovem e infeliz soberano que, apesar da sua doença que anunciava a sua morte próxima, e que, por isso, sempre precisava se esconder daqueles com quem falava, e que, apesar do tom acriançado da sua voz, ainda assim demonstrava uma força notável e poder de decisão.
— Portanto, em resumo — disse Arnoldo de Torroja, quando, falando, acabou por arrumar seus pensamentos e passou a dizer algo de razoável —, é uma boa coisa para os templários ter como patriarca uma pessoa amiga e uma coisa ruim ter uma que é nossa inimiga. Ao mesmo tempo, é uma coisa boa para o reino de Jerusalém, ter um homem de honra e de fé como guardião maior da Santa Cruz e do Santo Sepulcro. E um pecado, ter um grande pecador, indicado para o mesmo lugar de tanta responsabilidade. Aquilo que Deus deve considerar nesta questão talvez não seja tão difícil de calcular.
— Claro que não, mas a questão agora é saber o que minha mãe, Agnes, vai fazer — respondeu o rei, seco. — Eu sei que, na realidade, é o conselho formado por todos os arcebispos da Terra Santa que têm de decidir e votar nesta questão. Mas, na verdade, muitos desses homens de Deus são fáceis de comprar portanto, a questão será decidida por mim ou por minha mãe. O que eu quero saber é se vocês, templários, são absolutamente contra um ou outro dos dois candidatos. E então?
— Um pecador que é a nosso favor ou um homem de Deus, honesto, que é contra nós, não é uma escolha fácil, senhor — respondeu Amoldo de Torroja, paralisado. Se tivesse podido adivinhar o futuro, teria dito algo totalmente diferente, com toda a sua força.
— Muito bem — disse o rei, com um suspiro. — Então, parece que vamos ter um patriarca muito especial, visto que você deixa a decisão para a minha mãe. Se Deus é tão bom quanto os templários dizem, certamente Ele vai mandar Suas línguas de fogo contra esse homem cada vez que ele se aproximar de um rapazinho escravo ou de
uma mulher casada ou, talvez, até de uma mula. Muito bem! A segunda questão de que eu queria falar é da situação da guerra. Nesta questão, todos mentem para mim como vocês podem entender. Às vezes, pode levar um ano para eu saber o que aconteceu ou não aconteceu. Como, por exemplo, o que realmente aconteceu na minha única vitória na guerra em que eu próprio participei. Primeiro, eu fui o grande vencedor em Monte Gisard. Existiram testemunhas dignas de crédito que disseram ter visto São Jorge acima de mim no céu e não sei o que mais. Agora, sei que foi você, Arn de Gothia, o vencedor. Não estou certo?
— Na verdade... — respondeu Arn, com demora, visto que tinha recebido uma pergunta direta do rei, e Amoldo de Torroja, portanto, não poderia responder em seu nome — ... os templários nessa batalha venceram três ou quatro mil homens da melhor tropa de Saladino. Na verdade, também o exército secular de Jerusalém venceu quinhentos.
— É essa a sua resposta, Arn de Gothia?
— Sim, senhor.
— E quem liderou os templários nessa batalha?
— Eu mesmo, com a ajuda de Deus, senhor.
— Bem. Então, foi como eu achei. Uma vantagem com alguns dos templários, e você, Arn de Gothia, é um deles, é que a gente recebe as respostas verdadeiras. Assim eu gostaria de viver os meus últimos anos de vida, mas isso é uma coisa que dificilmente me será concedida. Muito bem! Me diga então, em resumo, como está a situação militar.
— É uma situação complicada, senhor... — começou Arnoldo de Torroja, que foi interrompido imediatamente pelo rei.
— Me desculpe, querido grão-mestre, mas não é o Mestre de Jerusalém, neste momento, o comandante militar mais qualificado da sua ordem?
— Sim, senhor, é verdade — reagiu Arnoldo de Torroja.
— Bem! — suspirou o rei, sonoramente. — Deus, se eu tivesse esses homens com quem conviver, que só falam a verdade! Então, ainda está conforme sua ordenação que eu faça a pergunta para Arn de Gothia, querido grão-mestre, sem ir contra as regras, regras e mais regras, e a honra e a glória, certo?
— Está tudo na sua devida ordem, senhor — respondeu Arnoldo de Torroja, algo contrariado.
— Muito bem! — disse, então, o rei, questionando.
— A situação pode ser descrita da seguinte maneira, senhor começou Arn, inseguro. — Temos contra nós, agora, o pior inimigo da cristandade de todos os tempos, pior do que Zenki, pior do que Nur al-Din. Saladino conseguiu unir quase todos os sarracenos contra nós e ele é um líder militar muito competente. Perdeu uma vez, quando Vossa Majestade venceu em Monte Gisard. Fora disso, ele tem vencido todas as batalhas importantes. Temos de fortalecer o lado cristão em todo o Ultramar. Caso contrário, estamos perdidos ou presos dentro das fortalezas e das cidades, e assim não podemos ficar por todo o tempo. Essa é a situação.
— Você compartilha dessa interpretação, grão-mestre? — perguntou o rei, com severidade.
— Sim, meu senhor. A situação é exatamente aquela que o Mestre de Jerusalém descreveu. Precisamos de reforços vindos de nossos países de origem. Saladino é alguém completamente diferente daqueles que nós tínhamos que enfrentar antes.
— Muito bem! Então é assim que tem de ser feito. Vamos mandar uma embaixada aos nossos países de origem, ao imperador da Alemanha, ao rei da Inglaterra e ao rei da França. Você poderia ter a bondade de integrar essa embaixada, grão-mestre?
— Sim, senhor.
— Mesmo que nela também vá o grão-mestre Roger des Moulins, da Ordem dos Hospitalários?
— Sim, senhor. Roger des Moulins é um homem eminente.
— E com o novo patriarca de Jerusalém, mesmo que ele seja alguém com quem você deva ter cautela durante a noite?
— Sim, senhor.
— Muito bem. Está ótimo. Assim será feito. Mais uma pergunta, quem é o melhor comandante de exército entre todos os cavaleiros seculares do Ultramar.
— O conde Raymond, de Trípoli, e depois dele, Balduíno d'Ibelin, senhor — respondeu Arnoldo de Torroja, rapidamente.
— E quem é o pior? — perguntou o rei, igualmente rápido. — Seria, por acaso, o querido amante da minha irmã, Guy de Lusignan?
— Comparar Guy de Lusignan com qualquer dos dois antes mencionados seria como comparar Davi com Golias — respondeu Arnoldo de Torroja, com uma leve e irônica vênia. Isso fez com que o rei ficasse pensativo e silencioso durante alguns momentos.
— Quer dizer que Guy de Lusignan poderia vencer o conde Raymond, grão-mestre? — perguntou ele, levemente divertido, ao concluir seus pensamentos.
— Não foi isso que eu disse, senhor. Como as Escrituras assinalam, Golias era o maior dos guerreiros e Davi, apenas um inexperiente rapaz. Sem a interferência de Deus, Golias teria vencido mil vezes em mil, contra Davi. Se Deus apoiar Guy de Lusignan como apoiou Davi, é claro que Guy de Lusignan será invencível.
— Mas... e se Deus virar as costas justo nesse momento? — disse com um pequeno sorriso, acompanhado de um ataque de tosse.
— Nessa altura, a luta terminará mais cedo do que o senhor tenha tempo para um piscar de olhos — respondeu Amoldo de Torroja, com uma vênia amigável.
— Grão-mestre e Mestre de Jerusalém — declarou o rei, no meio de mais um ataque de tosse, fazendo um novo sinal para o seu servidor núbio que, mais uma vez, correu na sua direção, para lhe dar assistência. — Com homens como os senhores, eu gostaria de ficar falando durante muito tempo. A minha saúde, porém, não o permite. Por isso, desejo aos dois a paz do Senhor e uma boa noite!
Eles se levantaram de suas almofadas de couro, muito macias, fizeram uma vênia, e olharam de viés um para o outro, ao ouvir os ruídos de chiado asmático e de gorgolejo que vinham de trás da musselina azul que encobria o rei. Viraram-se e silenciosamente saíram da sala.
Para sua grande surpresa, o padre Louis foi acordado bem cedo, antes das laudes, por Arn de Gothia, que veio pessoalmente buscá-lo e ao irmão Pietro para a missa da manhã, no Templo de Salomão. Os dois cistercienses foram conduzidos pelo cavaleiro e guia através de uma série labiríntica de corredores e de salas até que, de repente, depois de subir por uma escada escura, acabaram saindo no meio da grande igreja com a cúpula dourada. Já estava cheia de templários e sargentos que, em silêncio, se colocavam à volta e junto das paredes da igreja redonda. Ninguém chegou tarde. Na hora certa, havia quase cem templários e mais do dobro de sargentos de negro dentro do círculo.
O padre Louis ficou muito satisfeito com a missa e bem impressionado com a seriedade com que esses homens de luta cantaram e como cantavam surpreendentemente bem. Isto também não era algo que ele esperava.
Depois das laudes no Templo de Salomão, Arn de Gothia levou os seus convidados para o habitual passeio que todos os novos visitantes realizavam aos pontos mais importantes da cidade de Jerusalém. Explicou, nessa altura, que era melhor realizar essa volta bem cedo pela manhã, antes que a cidade ficasse apinhada de peregrinos.
Voltaram por toda a área dos templários, passando pelo Templum Domini, com a cúpula dourada, que Arn disse poder ser visitado por último, visto que nenhum peregrino teria acesso ao lugar nesse dia, previsto para limpeza e manutenção. Saíram pelo Portão Dourado e subiram pelo Gólgota, que ainda estava vazio de mercadores e visitantes. Foi ali que o Senhor sofreu e morreu na cruz, e os três rezaram prolongada e intensamente.
Depois, Arn liderou os seus visitantes através do Portão de Estêvão, a fim de entrar pela Via Dolorosa. Espiritualmente, seguiram o último caminho percorrido pelo Senhor, em sofrimento, através da cidade ainda acordando e até chegar à igreja do Santo Sepulcro que ainda estava fechada e era protegida por quatro sargentos da Ordem dos Templários. Os sargentos abriram a igreja de imediato, dando passagem para o Mestre de Jerusalém e seus clérigos visitantes.
A igreja era bonita de ver do lado de fora, com os seus arcos puros, iguais aos dos mosteiros onde o padre Louis e também Arn e o irmão Pietro tinham crescido. Mas, por dentro, a igreja estava cheia de lixo e desarrumada, em razão de ser partilhada por muitas e diferentes orientações religiosas.
Havia um canto deslumbrante, dourado, e com uma miríade de cores e de imagens insultuosas que o padre Louis reconheceu como do estilo da Igreja heterodoxo-bizantina. Ainda havia outros estilos que ele não conseguiu reconhecer. Arn explicou, a propósito, que havia uma regra em Jerusalém que permitia o acesso de todas as espécies de cristãos ao Santo Sepulcro. Para ele, essa questão não parecia nem um pouco estranha.
Quando desceram as escadas de pedra da cripta escura e úmida de Santa Helena, no entanto, todos se encheram de grande respeito solene, a ponto de começar a tremer de frio. Até mesmo Arn pareceu influenciado, tanto quanto seus visitantes. Ajoelharam-se no pavimento de lajes e rezaram em silêncio, cada um por si, e era como se nenhum deles quisesse desistir primeiro. Ali estava o coração de toda a cristandade, ali era o lugar que custara todo o sangue durante tantos anos, a Sepultura de Deus.
O padre Louis estava tão emocionado por essa sua primeira visita ao Santo Sepulcro que ele, mais tarde, não se lembrava mais de quanto tempo tinham passado lá embaixo e o que, efetivamente, ele tinha vivido e quantas visões ele teve diante de si. Entretanto, parecia que haviam passado bastante tempo lá embaixo, já que, ao saírem para a forte luz do sol, quase cegos, através do portão principal da igreja, foram recebidos pelos murmúrios de uma multidão mal-humorada, mantida a distância pelos quatro sargentos e que não recebeu autorização para entrar. Os murmúrios pararam quando os que aguardavam se deram conta de que era o próprio Mestre de Jerusalém que saía com os seus visitantes religiosos.
De volta à cidade, Arn escolheu outro caminho, mais secular, o que ia do Portão de Jaffa, atravessando diretamente os bazares até o quartel dos templários. Os odores estranhos de especiarias, de carne crua, aves de várias espécies, couro queimado, tecidos e metais atingiram o nariz dos visitantes, nada acostumados com eles. O padre Louis achou, primeiro, que todas essas pessoas estranhas, de linguajar incompreensível, eram infiéis, mas Arn explicou que quase todas eram cristãos, se bem que de uma comunhão que já existia no Ultramar antes de os cruzados chegarem. Eram sírios, coptas, armênios, maronitas e muitos outros de que o padre Louis mal havia ouvido falar. Arn contou que existia uma história cruel a respeito de todos esses cristãos. É que, quando os primeiros cruzados chegaram, eles sabiam tão pouco quanto o padre Louis e o irmão Pietro a respeito dessas pessoas serem uma espécie de irmãos de fé. Como não conseguiam diferenciá-los pelo aspecto dos turcos e dos sarracenos, muitos foram mortos por zelotes cristãos na mesma proporção em que matavam os infiéis. Mas o mau tempo já havia passado.
Quando, por último, visitaram o Templum Domini vazio, já dentro da área dos templários, eles rezaram no rochedo onde Abraão teria oferecido seu filho Isaque e onde Jesus Cristo como criança foi santificado por Deus.
Depois das preces, Arn levou seus convidados para dar uma volta pela igreja muito bonita, o que até o padre Louis teve de reconhecer, apesar de estranhar todo o seu aparato. Arn leu sem dificuldade os textos dos infiéis escritos ao longo das paredes, gravados em ouro e prata. Diante do espanto do padre Louis por esses textos não terem sido apagados ou destruídos, Arn respondeu, despreocupado, que para a maioria das pessoas aqueles não eram textos, já que os cristãos, normalmente, não sabiam ler na linguagem do Alcorão. E que, por isso, eram vistos apenas como meras decorações. E que para aqueles que sabiam lê-los, acrescentou ele, quase todo o seu conteúdo era inteiramente compatível com os textos da fé cristã, já que os infiéis em muitos aspectos celebravam Deus do mesmo modo que os cristãos.
Primeiro, o padre Louis ficou perturbado perante essa heresia, mas se conteve e pensou que, afinal, havia uma grande diferença entre os cristãos que há muito viviam na Terra Santa e os que, como ele próprio, vinham de visita pela primeira vez.
Já era a hora de rezar o terço e tiveram, portanto, que se apressar para chegar a tempo no Templo de Salomão. Depois da missa, voltaram para a sala que pertencia ao Mestre de Jerusalém e onde já havia muitos visitantes esperando, gente que, a julgar pelas diferentes vestes que usavam, podiam ser desde cavaleiros da Terra Santa até artesãos e mercadores infiéis. Arn de Gothia pediu desculpas, dizendo que tinha trabalho para fazer que não podia esperar mais, mas que voltaria a ver os seus convidados cistercienses na missa do meio-dia, a sexta.
Assim, eles se encontraram algumas horas mais tarde e Arn levou, então, os visitantes para a varanda parecida com qualquer claustro de mosteiro cisterciense onde ele fez servir uma bebida fria de qualquer coisa a que ele chamou de limonada. Ele próprio, no entanto, continuou bebendo só água.
Foi então que o padre Louis resolveu fazer uma pergunta direta, se Arn estava cumprindo alguma penitência. E recebeu uma cautelosa resposta afirmativa. Arn achou, no entanto, que talvez devesse explicar essa questão um pouco mais e contou que se tratava de uma coisa que gostaria de confessar, mas para o seu confessor preferido na vida, chamado Henri, abade no mosteiro longínquo de Varnhem, na Götaland Ocidental.
O rosto do padre Louis se iluminou, então, contando que esse abade ele conhecia muito bem, de fato. Tinham se encontrado várias vezes em Cíteaux, em encontros de capítulo, e que o padre Henri tinha tido muitas coisas interessantes a compartilhar com os seus irmãos, a respeito da cristianização dos povos góticos selvagens. Como é que o mundo podia ser tão pequeno! Quer dizer que eles tinham um amigo comum e isso, de fato, não era de esperar.
Para Arn, era como se tivesse recebido uma mensagem de casa e ficou pensativo, por momentos, lembrando recordações de Varnhem e da Vitae Schola, na Dinamarca, e dos pecados que teve de confessar para o padre Henri, entre os quais o mais difícil de entender fora o de amar a sua noiva Cecília.
O padre Louis não teve dificuldade nenhuma em levar Arn a contar o que lhe tinha acontecido na vida, desde quando se encontrou com o padre Henri, seu confessor, até os muitos anos passados como templário em Jerusalém. Nem tampouco o padre Louis, que era um salvador de almas, teve qualquer dificuldade em perceber um tom de mágoa no relato feito por Arn. Ele se ofereceu, então, para substituir seu antigo confessor, visto que era o mais próximo do padre Henri que Arn podia esperar encontrar na Terra Santa. Arn concordou depois de curta hesitação e o irmão Pietro foi buscar a estola de confessor do seu abade, deixando-os depois sozinhos na varanda.
— Muito bem, meu filho? — questionou o padre Louis, ao abençoar Arn antes da confissão.
— Perdão, padre, por eu ter pecado — começou Arn, com um profundo suspiro como que tomando balanço para seu sofrimento. — Eu pequei severamente contra o Regulamento e isso é o mesmo como se o senhor, padre, tivesse pecado contra o regulamento do seu mosteiro. Além disso, mantive o meu pecado em segredo e, por isso, agravei ainda mais esse pecado. Mas o pior ainda é que acho que existe uma defesa para o meu comportamento.
— Você precisa dizer, mais concretamente, do que se trata para eu poder entender e aconselhar ou perdoar, reagiu o padre Louis.
— Eu matei um cristão e, além disso, com raiva. Esse é um dos lados da questão — começou Arn, com alguma hesitação. — Por outro lado, eu devia perder o direito ao meu manto e, na melhor das hipóteses, devia ser colocado na limpeza das latrinas durante dois anos; na pior das hipóteses, devia ser obrigado a deixar a ordem. Mas por ter mantido o meu pecado em segredo, fui promovido dentro da ordem, de modo que, agora, estou investido em um dos dois cargos mais elevados, perante o qual me sinto indigno.
— Foi o seu desejo de poder que o levou a esse pecado? — perguntou o padre Louis, preocupado. Viu diante de si um caso muito complicado de penitência.
— Não, padre, isso, com toda a sinceridade, posso garantir que não foi — respondeu Arn, sem hesitar. — Como o senhor entendeu, homens como eu, até certo ponto, e em especial homens como Amoldo de Torroja, têm grande poder dentro da nossa ordem. Por isso, é também significativo quais os homens escolhidos para essas funções, já que, a partir daí, toda presença da cristandade na Terra Santa está em jogo. Amoldo de Torroja é um grão-mestre melhor e eu, um Mestre de Jerusalém, melhor do que muitos outros homens. Mas não porque somos mais puros na nossa crença do que os outros, não porque somos melhores como líderes espirituais ou melhores para liderar muitos cavaleiros no ataque do que muitos outros, mas porque pertencemos àqueles entre nós, os templários, que procuram a paz, mais do que a guerra. Aqueles que procuram a guerra, em contrapartida, nos lideram para a queda.
— Portanto, você defende o seu pecado através da defesa da Terra Santa? — perguntou o padre Louis, com uma ponta de ironia, praticamente imperceptível, e que Arn deixou passar, totalmente despercebida.
— Sim, padre, é dessa maneira que tento ver de longe na minha consciência — respondeu ele.
— Diga-me, meu filho... — continuou o padre Louis, demorando — quantos homens você já matou nesse tempo como templário?
— É impossível dizer, padre. Não menos do que quinhentos, não mais do que mil e quinhentos, acho eu. Nem sempre se sabe o que acontece quando uma lança ou uma flecha acerta. Em mim próprio, já acertaram oito vezes com flechas, com muito perigo. Talvez oito sarracenos pensem que já me mataram.
— Entre esses homens que você matou, havia mais de um cristão?
— Sim, certamente. Assim como existem sarracenos que lutam do nosso lado, também há cristãos do outro lado. Mas esses não contam. O Regulamento não nos proíbe de atirar nos nossos inimigos com flechas ou bater neles com a espada ou cavalgar contra eles com a lança e nós, de cada vez que levantamos nossas armas, não podemos parar e perguntar ao inimigo qual é a crença dele.
— Portanto, o que é que houve com esse cristão que você matou, que fez da sua morte um pecado maior do que aqueles outros cristãos, mortos em outras ocasiões? — perguntou o padre Louis, nitidamente surpreso.
— Uma das nossas regras de honra mais importantes — começou Arn, com um tom de tristeza na voz — diz o seguinte: Ao puxar pela sua espada, não pense em quem você vai matar. Pense em quem você vai poupar. Tenho tentado seguir essa regra e ela estava na minha mente quando três loucos recém-chegados, apenas por prazer, resolveram atacar e matar mulheres, crianças e velhos, todos indefesos, que eram protegidos da cidade de Gaza. E eu era o comandante em Gaza.
— Você tinha o direito de defender os seus protegidos, até mesmo contra os cristãos, não é verdade? — perguntou o padre Louis, aliviado.
— Sim, é claro. E eu tentei poupar dois deles. Se morreram, não é pecado meu. São coisas que acontecem quando se cavalga com as armas levantadas um contra o outro. Mas o terceiro foi o caso pior. Primeiro, eu o poupei como eu queria e devia. E ele me pagou, matando o meu cavalo diante dos meus próprios olhos. E, então, eu o matei de imediato e com raiva.
— Isso foi ruim — suspirou o padre Louis que viu a esperança de uma saída fácil ir por água abaixo. — Você matou um cristão por causa de um cavalo?
— Sim, padre, esse é o meu pecado.
— Isso foi ruim, sim. Muito ruim — concordou o padre Louis, muito triste. — Mas me diga uma coisa que talvez eu não tenha entendido bem. Os cavalos não são importantíssimos para vocês, cavaleiros?
— O cavalo pode ser um amigo mais próximo de seu cavaleiro do que os amigos deste entre os outros cavaleiros — respondeu Arn, num lamento. — Aos seus olhos, padre, talvez isso possa soar uma loucura ou, pelo menos, profano, mas eu posso apenas dizer, com toda a honestidade, tal como é: a minha vida depende do meu cavalo e da nossa camaradagem. Com um cavalo menos bom do que aquele que foi morto diante dos meus olhos, eu teria morrido já há muito tempo. Aquele cavalo salvou a minha vida muito mais vezes do que eu posso me lembrar e nós éramos amigos desde quando eu era jovem e ele também. Vivemos os dois, juntos, uma longa vida de guerras.
O padre Louis sentia-se estranhamente impressionado com essa infantil declaração de amor por um animal. Mas, apesar da sua curta estada em Jerusalém, ele já tinha entendido que havia muita coisa que era diferente, aqui, nesta região. E que aquilo que era pecado no seu país talvez não fosse aqui. E vice-versa. Por isso, ele não queria se apressar e pediu a Arn um tempo para pensar, até o dia seguinte. Entretanto, Arn devia procurar Deus de novo no seu coração e pedir perdão por seu pecado. Em seguida, os dois se separaram, e Arn se afastou com passos obviamente bem pesados, para cumprir tarefas que não podiam aguardar por mais tempo.
O padre Louis ainda ficou na varanda, trabalhando com um certo prazer na solução daquele interessante problema que tinha lhe caído sobre os ombros. O padre Louis gostava mesmo era de quebrar nozes duras e difíceis.
Os homens que, evidentemente, eram cristãos e que esse Arn de Gothia disse estarem prestes a matar mulheres e crianças — para o padre Louis, não tinha ficado claro se as mulheres e as crianças eram beduínas, visto que Arn não contou nada a respeito da questão, para ele sem a importância que lhe dava um recém-chegado.
No entanto, Deus dificilmente iria querer defender vândalos, continuava raciocinando o padre Louis. Que Deus tivesse colocado um templário no caminho dos vândalos, não era de admirar. Dois deles tinham recebido, sem dúvida, o castigo que mereciam. Até aí, nenhum problema.
Mas como matar um homem cristão por causa de um cavalo sem alma e, além disso, com raiva? Se a gente, tal como o filósofo, tentasse ver qual a utilidade que Deus teria colocado nos pratos da balança, talvez assim se pudesse chegar ao problema, certo?
Caso se aceitasse a história de Arn de Gothia em relação ao cavalo, e isso era ponto pacífico, então, esse cavalo estava na graça de Deus, visto que ele havia ajudado o seu senhor a matar centenas de inimigos de Deus. Não seria, portanto, tão valioso quanto, pelo menos, um homem secular medíocre que aceitou ir para uma cruzada e viajou para a Terra Santa por uma razão mais ou menos nobre?
No sentido teológico, evidentemente, a resposta seria não. Entretanto, ao matar justo o cavalo, o vândalo tinha ido contra a causa de Deus na Terra Santa, tanto quanto se ele tivesse matado um cavaleiro. Esse pecado devia ser colocado no prato da balança. Além disso, acrescentava-se o fato de o vândalo ter por intenção matar mulheres e crianças inocentes, apenas para satisfazer o seu próprio prazer. Era fácil de entender a razão pela qual Deus enviara o Seu castigo para um pecador como ele sob a forma de um templário.
Esse era o lado objetivo da questão. As dificuldades aumentavam, entretanto, quando se considerava a questão sob o ponto de vista subjetivo.
Arn de Gothia conhecia o Regulamento e rompera com ele. Não foi pecador inconsciente. Havia estudado e falava um latim perfeito, com um sotaque engraçado borgonhês que lembrava o amigo padre Henri, o que, evidentemente, não era de estranhar. Não se podia esquecer que o pecado de Arn de Gothia era grande e não podia ser minimizado por incompreensão.
Entretanto, havia ainda um terceiro lado da questão. O padre Louis, em segredo, era o enviado como ouvidor do Santo Padre em Jerusalém. O Santo Padre tinha um grave problema, o de todos os homens da Igreja que chegavam da Terra Santa fazerem reclamações, constantemente, uns dos outros. Exigiam a excomunhão uns dos outros e pediam o levantamento das excomunhões, culpavam uns aos outros por toda espécie de pecados e mentiam muitas vezes descaradamente. Da confusão geral, surgiu como conseqüência a existência na Terra Santa de mais bispos e arcebispos do que em outros países. E ficar sentado em Roma e tentar dissecar o que era e não era verdadeiro em todas essas acusações cruzadas tinha se tornado quase impraticável. Por isso, o padre Louis tinha recebido do Santo Padre a missão de ser os olhos e os ouvidos do papado em Jerusalém, mas de preferência sem trair o segredo para ninguém.
De qualquer maneira, era preciso perguntar o que seria melhor para essa missão sagrada, se manter Arn de Gotiia no seu lugar como Mestre de Jerusalém e no abençoado exército do Santo Padre ou trocá-lo por outro homem qualquer, grosseiro e ignorante.
A essa pergunta parecia fácil responder. Aquilo que melhor poderia servir à sagrada missão era dar a Arn de Gothia o perdão dos pecadores para que ele fosse preservado como anfitrião do padre Louis. Diante da grande e importante missão, empalidecia até mesmo o pecado de raivosamente ter matado um miserável cristão. Arn de Gothia receberia, sim, o perdão dos pecadores já no dia seguinte, mas o padre Louis também iria descrever essa questão para o próprio Santo Padre, de modo que ele próprio pudesse dar ao perdão a sua bênção papal. E com isso o problema estava resolvido.
Quando Arn se encontrou com o padre Louis no mesmo lugar na varanda, pouco antes das laudes, na manhã seguinte, ele recebeu o perdão dos pecadores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também em nome da Virgem Maria. Mas justo no momento em que ambos se ajoelhavam para juntos rezarem em agradecimento por essa graça, o padre Louis foi gravemente perturbado por um bramido lamentoso vindo das profundezas, no meio do silêncio e da escuridão. Já tinha ouvido esse ruído antes, mas ainda não tinha decidido perguntar a razão dele.
Arn que viu a sua perplexidade, tranqüilizou-o, dizendo que era apenas o muezzin dos infiéis, chamando para a oração da manhã, garantindo que Deus é grande. O padre Louis, então, praticamente, caiu em si durante a sua prece. Lentamente, chegou à conclusão de que os infiéis inimigos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, faziam as suas orações profanas bem no meio da mais santa das cidades de Deus. No momento, porém, ele não queria encarar o problema.
Arn agradeceu a Deus por sua graça. Mas não estava nem tão entusiasmado, e nem sequer surpreso como se poderia esperar de alguém cujo pecado grave foi perdoado sem mais nem menos, com apenas mais uma semana a pão e água.
O pai espiritual de Arn, o padre Henri, também antes na vida tinha perdoado pecados graves do mesmo tipo, ao que parecia da mesma maneira superficial. Foi a segunda vez que Arn recebeu o perdão dos pecadores depois de ter matado um cristão. Da primeira vez que o padre Henri lhe perdoou, ele ainda era muito jovem, pouco mais do que uma criança. Então, apenas se defendera, tímido e inexperiente, diante de dois camponeses que tentaram matá-lo e que ele acabou matando. De qualquer maneira, muito simplesmente, foi perdoado. Que a culpa fora dos mortos e que a Virgem Maria interferira para que ele salvasse o amor de uma jovem e isto e aquilo, que Arn agora já quase não conseguia se lembrar. Mas perdoado, no entanto, ele fora.
O único pecado de que ele não tinha sido perdoado facilmente na sua vida continuava sendo o maior de todos, o de ter amado a sua noiva Cecília, inclusive carnalmente, pouco antes de receberem a bênção de Deus. Por esse pecado, ele estava cumprindo uma penitência de vinte anos, agora quase terminada. Mas, de qualquer forma, sinceramente, nunca chegara a entender por que justo esse pecado fora o único entre muitos que não pôde ser perdoado.
Tampouco conseguia entender qual fora a intenção de Deus em mandá-lo por tão longo tempo para a Terra Santa. Muitos foram os homens que matara, era verdade. Mas será que fora essa, realmente, a única intenção de Deus?
O novo patriarca de Jerusalém, o mais alto líder da cristandade romana depois do próprio Santo Padre, era um homem que, sem dificuldade, conseguia suplantar a sua própria má reputação. O palácio do patriarca estava situado em conexão com o palácio do rei e, em breve, todo o mundo sabia em Jerusalém que esse era o lugar em que a noite se transformava em dia. Uma das suas amantes mais conhecidas, em breve, seria chamada de patriarquinha e as gentes cuspiam quando ela passava de liteira para as suas visitas à Cidade Santa. Que a mãe do rei, Agnes de Courtenay, não ficasse zangada por seu amante, o patriarca, ter outras amantes, isso se explicava muito simplesmente por ela também ter outros amantes.
Exatamente como a eleição do novo patriarca aconteceu, ficou para sempre por explicar de modo claro. O arcebispo William de Tiro, que todos que entendiam alguma coisa da luta pelo poder religioso tinham considerado como certa a sua eleição como novo detentor do alto posto, perdeu não apenas essa luta contra o pecaminoso e dissoluto Heraclius, em relação propriamente à posição de patriarca. Ele teve que enfrentar a difamação, praticamente logo depois da perda dolorosa, tendo sido passível de excomunhão, em razão de uma lista de supostos pecados que certamente não só não havia cometido, como todos eles teriam sido ultrapassados, e em muito, pelo novo patriarca, Heraclius.
O arcebispo William de Tiro, que a história tornou conhecido para sempre, enquanto que, diplomaticamente, lançou um véu sobre o comportamento de Heraclius, teve de se submeter ao vexame de uma longa viagem até Roma para conseguir do Santo Padre o levantamento da excomunhão. Que seria bem-sucedido com essa manobra, todos consideraram como certo. Assim como muitos, entre eles o próprio Heraclius, previram que o arcebispo William, experiente e religiosamente bem informado, logo iria entrar em ação que tornaria a posição de patriarca de Jerusalém bem instável.
Infelizmente para a Terra Santa, William foi envenenado pouco depois da sua chegada a Roma, e os documentos que ele levou desapareceram sem deixar pistas.
Com isso, Heraclius ficou então com a posição segura como patriarca de Jerusalém. Nem mesmo Saladino entendeu como isso iria favorecer as suas intenções.
A trégua na guerra, que vigorava na época do assassinato de William de Tiro, foi quebrada de um jeito muito habitual. Reynald de Châtillon não pôde se conter ao ver todas as caravanas, com cargas riquíssimas, viajando entre Meca e Damasco e passando em frente da sua fortaleza de Kerak, além do rio Jordão. Recomeçou com os seus assaltos e saques.
Verificou-se que nem sequer o rei de Jerusalém, mortalmente doente, podia conter o seu vassalo, Reynald, e com isso a guerra com Saladino foi inevitável.
Saladino atravessou como muitas vezes antes o rio Jordão e começou saqueando pelo caminho até a Galiléia, na esperança de atrair o exército cristão para uma batalha decisiva.
Através do casamento do belo e cabeludo bobo da corte, Guy de Lusignan, com a irmã do rei, ele era na prática o sucessor ao trono. Com isso, era também o comandante máximo no exército real que agora tinha que liderar, pela primeira vez, contra o próprio Saladino. Sua missão não era fácil. Nem seria fácil para o conde Raymond, de Trípoli, que a contragosto colocou a si mesmo e os seus cavaleiros sob
o comando de Guy, assim os templários e os hospitalários se apresentaram com uma grande quantidade de cavaleiros.
O grão-mestre da Ordem dos Templários indicou seu amigo Arn de Gothia para o comando dos cavaleiros templários. Os hospitalários eram comandados pelo seu grão-mestre, Roger des Moulins.
Quando os cristãos e os sarracenos fizeram os primeiros contatos de luta na Galiléia, o irresoluto Guy de Lusignan recolheu uma pilha de conselhos contraditórios de todos os lados.
Arn de Gothia, que novamente reoffceu autorização para usar os seus espiões beduínos, disse saber que aquilo que se via das forças inimigas era apenas uma pequena parte do que havia para além do que a vista alcançava. E que, por isso, um ataque seria uma loucura e era, justamente, o que Saladino esperava. Que era preciso agüentar a posição e manter-se na defensiva, para que a cavalaria ligeira dos árabes tivesse dificuldade em atacar. Ou se afundasse, caso atacasse por impaciência. Isso porque os cristãos dependiam cada vez mais dos soldados a pé com os seus arcos grandes, de longo alcance. Podiam lançar enxames de flechas a longa distância, enxames tão densos que chegavam a escurecer o céu. Qualquer força de cavaleiros árabes ligeiros, ao avançar contra essa nuvem preta de flechas, seria exterminada antes de entrar em contato de luta contra o inimigo.
Alguns dos barões seculares e o próprio irmão de Guy, Amalrik de Lusignan, o segundo no comando do exército real depois do irmão Guy, eram a favor do ataque imediato, com todos os cavaleiros, visto que o inimigo parecia estar claramente em desvantagem. Também o irmão da sogra de Guy, Joscelyn de Courtenay, recebeu um alto comando no exército real e também ele era a favor de um ataque imediato.
O grão-mestre dos hospitalários, Roger des Moulins, normalmente, iria contra o que os templários dissessem. Mas depois de ter tido uma reunião em separado com Arn de Gothia se inclinou para o lado de Arn e considerou ser uma loucura ir para o ataque. Havia um grande perigo, acreditava ele, de cair na mesma armadilha que em Marj Ayyoun.
Nesta situação, o inseguro homem da corte, Guy de Lusignan, não conseguia tomar nem uma nem outra decisão.
Com o tempo, o confronto das duas forças acabou em nada, nenhum dos dois lados chegou à vitória. Saladino foi malsucedido no seu plano de, mais uma vez, conseguir que toda a cavalaria pesada dos cristãos avançasse depois da primeira, e aparentemente simples, escaramuça, atraindo todos para a armadilha que os esperava. Por outro lado, Saladino não tinha nenhum plano para executar a tática inversa, a de atacar com a sua cavalaria ligeira um bem entrincheirado exército cristão.
Para Saladino, por seu lado, essa guerra que não houve não era realmente um problema. Ninguém estava ameaçando a posição de Saladino como detentor do poder, nem no Cairo nem em Damasco. E não havia nenhum príncipe a quem teria de prestar contas de uma guerra malsucedida. Pensou tranqüilamente que outras novas oportunidades viriam.
Para Guy de Lusignan era pior. Quando, finalmente, Saladino se retirou, sem decidir a luta, porque não tinha como alimentar por mais tempo o seu exército, a Galiléia foi novamente saqueada.
Em compensação, na corte em Jerusalém, Guy de Lusignan teve dificuldades em se defender diante de todos os que, tendo estado com ele, diziam ter a certeza, exatamente, de como vencer Saladino, se apenas Guy não tivesse sido tão estúpido a ponto de confiar nos covardes templários e hospitalários. Guy ficou com todos contra si, até mesmo a sua sogra, Agnes, parecia ter se tornado uma experimentada comandante de campanha.
O rei Balduíno agora, estava completamente cego e não podia mais se movimentar sozinho. Não podia evitar a uniformidade das reclamações que chegaram até ele. Guy de Lusignan era um perdedor irresoluto e covarde e seria uma infelicidade ter um homem assim como soberano.
Alguma coisa teria que ser feita e o tempo era curto, visto que a morte rondava de perto e já soprava no pescoço do rei leproso. Ele nomeou, então, o filho de seis anos da sua irmã Sibylla, que também se chamava Balduíno, como sucessor no trono. E fez de Guy de Lusignan o conde de Ascalão e Jaffa, com a condição de o conde ir morar em Ascalão e não ficar empestando o ambiente da corte em Jerusalém com a sua presença. Com muito ranger de dentes e muitas palavras duras, Guy de Lusignan mudou-se para Ascalão e com ele Sibylla e seu filho adoentado.
Assim era a situação. O sucessor do trono de seis anos estava enfermo e isso era reconhecido por todos. A decisão do rei de fazer do garoto seu sucessor era apenas uma manobra destinada a evitar que Guy de Lusignan assumisse o trono.
Agora, estava nas mãos de Deus quem seria o primeiro a morrer, se o rei Balduíno de vinte e quatro anos ou o seu homônimo de seis anos.
O padre Louis teve de esperar vários meses antes de surgir a oportunidade adequada em que o grão-mestre, Arnoldo de Torroja, e o Mestre de Jerusalém, Arn de Gothia, dos templários, pudessem se encontrar Si ao mesmo tempo em Jerusalém. Eles viajavam muito: o grão-mestre, porque precisava decidir todos os graves problemas dentro da ordem, desde os cristãos da Armênia no norte até Gaza no sul; Arn de Gothia, porque, sendo o comandante militar supremo, precisava visitar freqüentemente as várias fortalezas da ordem.
Mas o padre Louis queria escolher uma oportunidade em que pudesse se encontrar com os dois ao mesmo tempo e, mais ou menos, em paz e em sossego. A sua missão era de tal natureza que pesaria muito sobre os ombros de um homem só, e duas cabeças sempre pensariam melhor do que apenas uma. Que o seu segredo pudesse ser traído quando ele o expusesse não se podia evitar. Ficaria esclarecido que ele não era um monge qualquer em viagem de peregrinação, mas, sim, na realidade, um enviado especial do Santo Padre.
Eventualmente, segundo pensava, talvez Arn de Gothia já tivesse percebido tudo, visto que a hospitalidade com que o padre Louis fora recebido em Jerusalém, nessa altura já tinha ultrapassado em muito aquilo que seria normal. O padre Louis pôde se alojar no quartel dos templários em vez de procurar lugar no mosteiro dos cistercienses embaixo, no Monte das Oliveiras, e morava, portanto, como qualquer espião gostaria, literalmente falando, bem no coração do poder.
Se Arn de Gothia entendeu a natureza própria da missão do padre Louis na Cidade Santa, então, não seria de estranhar que oferecesse toda a sua hospitalidade. Mas o padre Louis não tinha certeza a respeito do que Arn de Gothia sabia, isso porque o notável cavaleiro havia se tornado muito seu amigo e o procurava muitas vezes, para longas conversas a respeito de questões não só religiosas, como também seculares, tal como ele teria procurado o seu antigo confessor Henri no longínquo mosteiro na Götaland Ocidental cujo nome o padre Louis tinha esquecido.
Por questão de hábito, estavam reunidos mais uma vez na varanda Amoldo de Torroja e Arn de Gothia com o seu hóspede, à luz do anoitecer, depois do completoríum. E começaram fazendo gracejos a respeito da mistura de odores e de sons da cidade, uns religiosos, outros menos religiosos. Assim, o tom da conversa, inicialmente, foi bastante alegre, mas nada condizente com aquilo que o padre Louis tinha para contar.
Ao ver os dois eminentes templários juntos, o padre Louis também se emocionou profundamente. De modo superficial, os dois eram muito diferentes, um era alto, de olhos escuros, e barba e cabelo negros, explosivo no seu temperamento, bem-humorado e rápido como qualquer homem em qualquer uma das grandes cortes do mundo. O outro era louro, com a barba quase branca e com olhos azuis muito claros, quase delicado em relação ao grandão Torroja, meditativo e abruptamente certeiro em muitos dos seus comentários. Eles dois eram como imagem a representação do inconciliável, a fogosidade do sul com a frieza do norte. E, no entanto, os dois se dedicavam à mesma causa, sem riqueza, sem outra finalidade com a sua guerra senão a defesa da cristandade e do Santo Sepulcro. São Bernardo devia estar sorrindo no céu ao ver os dois juntos, pensava o padre Louis, pois, mais perto do que isso ninguém mais podia estar do sonho de São Bernardo, como cavalaria a dar tudo de si em louvor a Deus.
Fora disso, vinha o lado que o padre Louis tinha mais dificuldade em entender. Esses dois homens cheios de experiência em questões religiosas, respeitosos, se cortassem a barba e trocassem os mantos brancos com a cruz vermelha da guerra pelos hábitos brancos com capuz dos monges, podiam estar, naturalmente, em qualquer claustro de qualquer mosteiro, junto com o padre Henri.
Existia, no entanto, uma incompreensível diferença. Esses dois homens pertenciam ao grupo dos melhores guerreiros do mundo. Eram terríveis no campo de batalha, e a este respeito, eram testemunhas todos os que tinham algum entendimento sobre questões militares. E, no entanto, esses olhares suaves, esses sorrisos cautelosos, e essa fala tranqüila, grave. Isso, justamente isso, era a visão de divino de São Bernardo.
Para interromper o tom demasiado leve da conversa, onde tinha ido parar, o padre Louis pediu silêncio e fez uma prece, de cabeça baixa. Os dois outros entenderam de imediato o sinal, se concentraram para ouvir e ficaram em silêncio.
Era preciso falar.
O padre Louis começou por dizer, como era verdade, que ele era o enviado especial do Santo Padre e que os cistercienses que em silêncio tinham vindo e ido, desde o primeiro que veio com ele, Pietro de Siena, todos tinham voltado para Roma com cartas dirigidas diretamente para o Santo Padre.
Seus ouvintes não moveram um só músculo do rosto diante dessa novidade. Não dava para saber se eles já conheciam o segredo ou se, para eles, era uma novidade total.
Evidentemente, chegaram cartas de volta, mandadas pelo Santo Padre e sua chancelaria em Roma. E tinha sido obtida a certeza a respeito de questões desagradáveis. O patriarca de Jerusalém, Heraclius, tinha um homem a seu serviço, Plejdion, que certamente era um servidor fugitivo da Igreja Catara de Constantinopla. Levantar exatamente o que esse Plejdion fazia como trabalho para Heraclius não era fácil de descobrir, se bem que se sabia ser ele um homem para todo serviço, inclusive, para organizar as inomináveis festas que, freqüentemente, tinham lugar no patriarcado.
Agora, pela primeira vez, o padre Louis conseguiu fazer levantar as sobrancelhas dos seus dois ouvintes como se eles tivessem sido algo surpreendidos, como se essa fosse uma novidade em si sobre Plejdion ou porque o padre Louis tivesse conseguido descobrir alguma coisa sobre o que essa figura pouco recomendável, na realidade, fazia.
E, então, o padre Louis revelou a trágica notícia. O arcebispo William de Tiro tinha sido assassinado quando estava em Roma, pouco antes de ter uma audiência com o Santo Padre. Que era questão de um assassinato já se sabia há muito tempo. Os vestígios no seu quarto, assim como a cor do seu rosto, quando foi encontrado, não deixavam dúvida.
Entretanto, já se sabia quem o tinha visitado uma hora antes da sua morte. Nada mais, nada menos, do que Plejdion. Com isso, também ficou clara a razão do misterioso desaparecimento de todos os documentos que o arcebispo William tinha levado consigo para apresentar na audiência.
Pelo lado do papado, não havia nenhuma dúvida a respeito do acontecido. O enviado de Heraclius, Plejdion, tinha recebido a missão de assassinar o arcebispo William de Tiro.
Descobriu-se depois pelos seus antecedentes que esse Heraclius tinha nascido em Auverge, por volta de 1130, de família pobre, fora cantor numa igreja de aldeia, mas não tinha sido aceito como padre ou monge, o que explicava, além disso, o fato de ele não falar latim. Portanto, ele tinha vindo integrado numa multidão de aventureiros chegados à Terra Santa, mas preferiu avançar mentindo em vez de lutar. O padre Louis não tinha, claramente, todos os detalhes a respeito do caminho traçado pelo impostor para alcançar o poder, mas sabia-se que ele havia conseguido influência através das muitas amantes que conquistou. A mais importante foi, claro, a mãe do rei, Agnes de Courtenay, mas a sua antecessora, Pasque de Riveri, a quem chamavam de "Madame La Patriarchese", também teria significado muito para a marcha do impostor para o segundo lugar mais elevado na hierarquia religiosa do mundo.
Suma summarum. O patriarca de Jerusalém era um impostor e assassino.
Aqui terminou o padre Louis seu relatório sem dizer nada a respeito da decisão do Santo Padre sobre a questão.
— Isso que o senhor nos disse, padre — atalhou Amoldo de Torroja, pensativo e em voz grave —, é sem dúvida muito grave. Parte do que o senhor nos contou a respeitoda natureza maldosa desse homem já era conhecida por mim e nosso irmão, Arn. A pavorosa verdade de ele ter mandado matar com veneno o respeitável William de Tiro, no entanto, é para nós uma novidade total. E com isso vou chegar, evidentemente, à questão natural. Por que o senhor nos contou isso e o que quer o senhor ou o seu mandante que nós façamos com essa informação?
— Os senhores tomaram conhecimento do assunto, mas não podem transmiti-lo adiante — disse o padre Louis, contrariado, já que achava essa instrução difícil de apresentar. — Se alguém suceder a Arn de Gothia, você, Arnoldo, coloca o sucessor a par do assunto. E o mesmo vale para você, Arn de Gothia.
— É essa a vontade expressa do Santo Padre? — perguntou Arnoldo de Torroja.
— Sim. E, por isso, entrego a vocês esta bula — respondeu o padre Louis, abrindo o seu manto e apresentando um pergaminho com dois sigilos do papado, que colocou em cima da mesa entre eles.
Os dois templários abaixaram as suas cabeças como sinal de submissão. Arnoldo de Torroja apanhou a bula, com movimentos lentos e guardou-a dentro do seu manto. Depois disso, por momentos, o silêncio total.
— Como o senhor entende, padre, nós vamos obedecer nos mínimos detalhes a todas as recomendações do Santo Padre — disse Arnoldo de Torroja. — Mas será que posso perguntar algo mais a respeito deste assunto?
— Sim, por Deus, é claro que vocês têm essa permissão — respondeu o padre Louis e se benzeu. — Mas como percebo qual é a pergunta que pretende fazer, é melhor que eu responda de imediato. Por que razão, vocês se perguntam, o Santo Padre não age com mão de ferro contra esse homem? É isso, certamente, que querem saber, não?
— É isso, justamente, que nós queríamos saber, se é que nos permite — confirmou Amoldo de Torroja. — Que Heraclius é um impostor, são muitos que sabem disso. Que ele vive uma vida que não se espera de um homem da Igreja todos sabem. Que ele é uma vergonha para Jerusalém, sabe Nosso Senhor. Mas, na posição dele, o único que poderá atingi-lo será o próprio Santo Padre. Certo? Por que não excomungar o impostor e assassino?
— Porque o Santo Padre e os seus conselheiros chegaram à conclusão que uma tal excomunhão iria ferir a Sagrada Igreja Romana ainda mais do que já foi ferida. O caminho do impostor para o inferno é humanamente considerado curto. Ele já está com sessenta e sete anos. Se fosse excomungado, todo mundo cristão iria saber, aterrorizado, que a Terra Santa tinha um assassino, um impostor e um devasso como patriarca. O dano causado por um tal conhecimento espalhado por toda a cristandade seria impossível de reparar. Portanto, para o bem da Igreja e para o bem da Terra Santa... Bem, vocês entendem!
Os dois templários se benzeram, inconscientemente, ao mesmo tempo, ao escutarem o que o padre Louis havia acabado de dizer. Acenaram afirmativamente com a cabeça, silenciosos e tristes, em sinal de obediência e de que não tinham mais nenhuma pergunta ou objeção.
— Muito bem, esse era o assunto do assassinato... — disse o padre Louis, num tom leve, quase como se estivesse brincando com uma questão grave. — Então, passamos ao assunto seguinte e neste caso não existe nenhuma bula papal, mas, em compensação, certas perplexidades. É minha missão tentar apresentar tudo com clareza. Portanto, vou direto ao assunto. A não ser que tenham alguma coisa contra.
— Naturalmente que não, padre — respondeu Amoldo de Torroja, com um pequeno movimento da mão em cima da mesa como se qualquer novo pequeno demônio pudesse sair dali. — Depois de tudo isto, tanto o irmão Arn como eu já estamos preparados e calejados. E agora?
— Trata-se de certas coisas peculiares aqui em Jerusalém — começou o padre Louis, um pouco indeciso, visto que não sabia como apresentar o problema de uma maneira cortês, mas determinada. — Eu percebi que vocês permitem que os infiéis rezem dentro da vossa jurisdição em Jerusalém e até mesmo, para dizer o mínimo, o façam em alto e bom som, informando os circundantes quando pretendem entrar em função com suas atividades ímpias. É isso que acontece, não é verdade?
— É isso, sim. Isso acontece — respondeu Arn, quando Arnoldo de Torroja com um gesto mostrou que era ele que iria ter esse problema pela frente.
— Eu entendo que vocês dois sejam sinceramente crentes — continuou o padre Louis, amistosamente. — Dizer que justo vocês não
são os primeiros defensores da verdadeira fé da cristandade seria um — insulto. Creio já conhecer os dois o suficiente para afirmar que assim acontece.
— O senhor é muito generoso conosco, padre — respondeu Arn. — Na verdade, nós fazemos aquilo que podemos. Mas o senhor acha que seja um paradoxo? Nós que defendemos a verdadeira fé com a espada na mão, que matamos os infiéis aos milhares e milhares, como é que podemos permitir suas preces barulhentas até mesmo no coração da Ordem dos Templários?
— É mais ou menos isso — confirmou o Padre Louis, constrangido por não ter conseguido formular a pergunta antes de esta ter sido formalizada para si.
— Como eu disse antes, padre — continuou Arn —, a regra de ouro da nossa ordem é esta: Ao puxar pela sua espada, não pense em quem você vai matar. Pense em quem você vai poupar. Esta regra não existe apenas para mostrar uma mentalidade conciliatória, não apenas para manter a distância um dos nossos piores pecados imagináveis, o de matar com raiva. Existe outro lado completamente diferente da questão. Aos milhares, os sarracenos são muito mais do que os cristãos, aqui, no Ultramar. Nem mesmo se nós pudéssemos matar todos, isso seria sensato, porque, então, morreríamos de fome. Nós não mantemos a Terra Santa em nosso poder nem há cem anos, mas a nossa intenção é permanecer aqui para sempre, não é verdade?
— Sim, a questão poderia ser caracterizada desse jeito — confirmou o padre Louis, impaciente na espera de explicações mais completas.
— Uma parte dos cristãos luta do lado dos sarracenos. Muitos sarracenos lutam do nosso lado. A guerra não é de Alá contra Deus, visto que são um e o mesmo Deus. A guerra é, sim, do bem contra o mal. Muitos dos nossos amigos no comércio, nas caravanas e na espionagem são infiéis, assim como muitos dos nossos médicos. Exigir a sua conversão no mesmo momento que começam a trabalhar para nós, seria o mesmo que ir para o campo de batalha e dizer para os camponeses palestinos para se deixarem batizar. Impossível e fútil. Ou consideremos outra questão, como o nosso comércio com Mossul, que, por enquanto, ainda não foi incluída no reino de Saladino. Demora duas semanas de caravana entre Mossul e São João do Acre, que é o porto de embarque mais importante para tecidos de Mossul, a que chamamos de musselina. Lá em São João do Acre, os mercadores de Mossul têm um seraglio para caravanas, com lugares próprios para preces, uma mesquita própria e um minarete de onde os horários de rezas são proclamados, assim como eles têm uma taberna própria para comer e beber o que lhes der na vontade. Se quisermos interromper todo o comércio com Mossul e, além disso, jogar os turcos nos braços de Saladino, teremos, naturalmente, de obrigar os mercadores a cortarem a barba e batizá-los, mesmo que esperneiem e reclamem, resistindo muito. Não achamos que esta seja a melhor maneira de servir a Terra Santa.
— Mas será que é bom para a Terra Santa os infiéis profanarem a mais santificada de todas as cidades? — perguntou o padre Louis, incrédulo.
— É, sim! — respondeu Arn, abruptamente. — O senhor sabe e eu sei que os ensinamentos puros de Deus são os nossos. O padre está disposto a morrer por esses ensinamentos puros e eu jurei fazer isso mesmo, assim que a situação o exigisse. Nós sabemos onde está a verdade e o que é a vida. Infelizmente, nove décimos da população daqui no Ultramar não sabem isso. Mas se nós não formos expulsos por Saladino ou por algum daqueles que vierem depois dele, como é que será a situação neste lugar daqui a cem anos? Daqui a trezentos anos? Daqui a oitocentos anos?
— Você acha que a verdade vence a longo prazo? — perguntou o padre Louis, com um inesperado vislumbre de humor no meio da mais profunda seriedade.
— Sim, é nisso que eu creio — respondeu Arn. — Nós podemos manter a Terra Santa pela espada, mas não para sempre. Só quando não precisarmos mais da espada é que, então, teremos vencido. Gente de todas as espécies parece ter uma forte má vontade em ser convertida pela violência. Com comércio, conversas, orações, boas prédicas, e meios pacíficos, costuma ser mais fácil.
— Quer dizer, então, que para que possamos vencer o profano pre-cisamos tolerá-lo — refletiu o padre Louis. — Se essas palavras viessem de algum monge fugitivo, ditas de cima de um púlpito, em Borgonha, possivelmente eu acharia a atitude dele infantil, já que ele nada saberia a respeito do poder da espada. Mas se vocês dois, justo vocês dois, que sabem mais de espada que quaisquer dos outros cristãos, têm esse entendimento. .. Aliás, é esse também o seu entendimento, grão-mestre?
— Sim. Eu talvez tentasse explicar a questão com muito mais palavras que o meu amigo Arn — respondeu Arnoldo de Torroja. — Mas, em resumo, eu diria a mesma coisa.
— Há algo mais que o senhor precisa saber enquanto ainda estamos tratando deste assunto — retomou Arn, cautelosamente, ao ver que o seu grão-mestre não intencionava acrescentar mais nada. — Faz uma semana, recebi a visita do grão-rabino de Bagdá. É isso mesmo. Os judeus têm a sua maior congregação em todo o Ultramar nessa cidade, e o rabino me pediu permissão para os judeus rezarem no muro ocidental. Eles acham que esse muro é o que sobrou do templo do rei Davi ou qualquer coisa sagrada desse gênero. Talvez o senhor saiba que os judeus não rezam aqui em Jerusalém nos últimos oitenta e sete anos, certo?
— Não, não sabia — esclareceu o padre Louis. — São muitos os judeus que vivem na cidade?
— Sim, uma boa quantidade. São muito competentes no trabalho com metais. Mas o senhor sabe, padre, o que aconteceu com os judeus quando os nossos irmãos cristãos libertaram a cidade?
— Não, mas pela sua pergunta posso imaginar que não foi nada de bom.
— Isso mesmo. Imaginou bem. Todos os judeus fugiram para a sinagoga logo que os nossos libertadores entraram na cidade. Morreram todos na sinagoga, queimados. Todos eles, homens, mulheres e crianças.
— Isso você não pode compensar permitindo que mais um infiel venha circular pelo Santo Sepulcro — disse o padre Louis, pensativo. — Qual foi a sua resposta para esse rabino?
— Dei a ele a minha palavra de que, enquanto eu fosse Mestre de Jerusalém, os judeus poderiam rezar o quanto quisessem junto do muro ocidental — respondeu Arn, rápido.
Pelo silêncio do grão-mestre, o padre Louis chegou logo à conclusão de que ele, nem em relação aos judeus, fizera qualquer objeção contra a decisão tão ousada quanto pessoal de Arn. Era, evidentemente, uma atitude conseqüente, achou o padre Louis. A questão de saber qual o pior dos infiéis, o judeu ou o sarraceno, era de somenos importância. Mas essa não ia ser coisa fácil de apresentar ao Santo Padre.
— Se aquele que me mandou em missão aqui achar que essa generosa promessa feita aos judeus foi errada, o que é que você faria? — perguntou o padre Louis, com calculada ênfase.
— Nós, os templários, obedecemos ao Santo Padre e a ele só. O que ele decidir nós obedeceremos em absolutum. — respondeu Arnoldo de Torroja, calorosamente.
— O nosso mui respeitável patriarca já reclamou quanto às orações dos sarracenos — acrescentou Arn, com um sorriso meio disfarçado.
— Ele diz que a chamada para as orações perturba o seu sono durante a noite. No entanto, essa afirmativa, justo no seu caso, parece ser um enorme exagero.
Diante desta alusão ao que seriam os hábitos noturnos do arquipecador, o padre Louis não pôde conter uma gargalhada. E talvez tivesse sido essa a intenção de Arn. Com isso, quebrou-se o ambiente sério entre eles, talvez também em concordância com as intenções de Arn.
— Devo admitir que entendo a satisfação de vocês em obedecer apenas ao Santo Padre e não a um certo patriarca — regozijou-se o padre Louis, satisfeito. — Mas me diga, meu caro Arn, você espera, daqui a oitocentos anos, converter também os judeus?
— Na realidade, acho que os judeus vão ser um problema ainda maior — respondeu Arn, num novo tom agora mais leve que o riso antes havia soltado —, mas existem mais problemas imediatos. Os judeus são fortes em Bagdá, a cidade do califa. O califa é, na realidade, quem manda em Saladino e ele tem muitos conselheiros judeus...
— Portanto, o califa? — interrompeu o padre Louis.
— Sim, o califa. Diz-se que ele é... do Profeta Maomé, que a paz... Arre! Enfim, diz-se que ele é o sucessor do Profeta. Por isso, está acima de todos os seguidores do Profeta. O seu apoio a Saladino, no entanto, tem sido dado pela metade. O que a gente não precisa é de um forte fanático pelo Jihad, a Guerra Santa, em Bagdá.
— Portanto, é certo deixar que os judeus venham rezar no muro ocidental, isso para dividir os sarracenos, é o que você quer dizer? — perguntou o padre Louis, de testa franzida, reconhecendo, de repente, que sabia muito pouco a respeito de muitas questões que eram muito claras para os outros dois.
— Sim — disse Arn. — Mas há muito mais coisas ainda. A nossa própria santa cruzada, a nossa guerra santa, começou porque os nossos peregrinos não conseguiam entrar no Santo Sepulcro. E se, agora, os judeus do califa e os infiéis sarracenos não puderem orar na nossa cidade? Pense bem, padre! Eu lhe peço, realmente, que não se apresse e diga agora algo de que talvez venha a se arrepender. O senhor se lembra daquilo que o seu e o meu maior condutor, São Bernardo, disse a respeito dos judeus: "Aquele que bater num judeu, bate num filho de Deus"? Aquilo que quero dizer é muito simples. Nós queremos conservar esta cidade para sempre. O que seria mais inteligente do que transformar o Jihad dos nossos inimigos, a Guerra Santa deles, e lhe retirar a santidade.
— Você, Arnoldo, é da mesma opinião? — perguntou o padre Louis, cauteloso.
— Sim, mas é um assunto que exige muita reflexão — respondeu Arnoldo de Torroja, sem hesitar. — Desculpe, padre, mas creio que é preciso morar aqui no Ultramar para realmente entender a região. Eu próprio vivo aqui há treze anos. O meu amigo Arn, há muito mais tempo. Nós dois sabemos que homens como Saladino e aqueles que vierem depois dele podem atrair muito mais guerreiros contra nós do que possamos matar. Assim tem sido desde que Saladino uniu quase todos os nossos inimigos contra nós. Antes, quando eles guerreavam mais entre eles do que contra nós, era uma coisa. Mas, padre, consulte honestamente o seu coração e pergunte a si próprio se deseja que Arn e eu e todos como nós e todos os nossos irmãos, todos que abraçaram a cruz, também, entre os seculares, todos, morram só porque a espada é a nossa única arma? Ou quer que nós, os fiéis, fiquemos aqui para sempre, junto do Santo Sepulcro, onde o senhor pôde rezar?
— Isso que você diz, grão-mestre, quase que beira a blasfêmia! — exclamou o padre Louis, perturbado. — Será que Deus não vai nos defender, a nós, que tanto fizemos para liberar o Santo Sepulcro? Será que Deus não estará do nosso lado na guerra santa, no momento em que conduzimos a Sagrada Cruz na luta? Como é que você pode falar dessas coisas como se elas ficassem fora da fé, como se fossem pequenas questões entre príncipes rivais?
— Porque as coisas são desse jeito, padre. Olhe à sua volta. Nós estamos em total inferioridade numérica, em espadas, cavalos ou arqueiros. É um fato, não blasfêmia. O inimigo tem um grande líder em Saladino. Quem é que nós temos? Agnes de Courtenay ou o seu amante, assassino e impostor, Heraclius? Ou o medíocre comandante de exército, Guy de Lusignan? Essa é a verdade no baixo mundo. No mundo superior, a verdade ainda é mais amarga. Os cristãos são liderados por um bando de arquipecadores, impostores, prostitutas e praticantes habituais de inomináveis pecados. Eu não posso nem imaginar qual é a vontade de Deus, nem o senhor, nem ninguém. Mas se Deus, neste momento, não ficar furioso diante de todos os nossos graves pecados, então, ficarei muito surpreso. Para resumir ainda mais, padre, nós estamos correndo o risco de perder a Terra Santa, isso porque os nossos pecados nos queimam, nós ardemos no fogo eterno. Essa é a verdade.
No ano da graça de 1184, três anos antes de Deus punir os cristãos com a perda da Terra Santa, partiram para uma longa viagem o grão-mestre dos hospitalários, Roger des Moulins, o grão-mestre dos tem-plários, Arnoldo de Torroja, e o patriarca de Jerusalém, Heraclius, a fim de convencer o imperador da Alemanha, o rei da França e o rei da Inglaterra a liderarem uma nova cruzada, mandando novos exércitos para defender a Terra Santa contra Saladino.
A posteridade ficou sem saber se Arnoldo de Torroja, então, avisou o seu irmão da Ordem dos Hospitalários a respeito do escorpião que ambos tinham como companheiro de viagem na figura de Heraclius.
Sabe-se, sim, em contrapartida, que a sua longa viagem valeu algum dinheiro, principalmente do rei da Inglaterra, que, de alguma maneira, achou poder fazer assim penitência pelo assassinato do bispo Thomas Becket, doando uma grande soma por indulgência. O dinheiro, no entanto, estava longe de ser o mais necessário principalmente para a Ordem dos Templários, que era mais rica do que o rei da Inglaterra e o rei da França juntos. O que mais se precisava era de compreensão nesses países para a situação realmente difícil na Terra Santa, em que Saladino não era como os seus antecessores. Aquilo que mais se precisava era do reforço de muitos guerreiros.
Mas era como se esses países há muito acreditassem que o mundo cristão possuía a Terra Santa. Entrar numa cruzada e montar num cavalo para libertar uma terra que há muito já estava libertada não parecia ser aquilo que os fiéis estavam mais dispostos a fazer.
E para aqueles que, assim como uma grande parte dos cruzados que nesse século fizeram, queriam partir para a Terra Santa para saquear e ficar ricos, já era sabido que poucos voltariam com essas intenções realizadas. A Terra Santa pertencia agora aos barões locais que pouco queriam saber da necessidade de os novos cruzados enriquecerem à custa dos seus irmãos cristãos.
A embaixada da Terra Santa acabou arranjando, portanto, muito dinheiro. Mas nenhum imperador alemão à frente de um novo e enorme exército que pudesse equilibrar as forças contra Saladino. Muito menos vieram os reis inglês e francês, visto que ambos lutavam entre si pelas mesmas terras e achavam uma estupidez viajar numa missão santificada enquanto o outro, nesse caso, ficaria com o caminho aberto para abocanhar o reino acéfalo.
Arnoldo de Torroja deve ter viajado, com todos os seus sentidos e bom senso, em permanente estado de desconfiança em relação ao impostor, assassino e patriarca de Jerusalém. Em especial porque ambos sabiam a opinião de cada um em relação à grande questão. Arnoldo de Torroja pertencia ao grupo dos seus adversários na corte em Jerusalém que se diferenciavam por não serem covardes. Ele já tinha afirmado muitas vezes para quem quisesse ouvir que as negociações e um acordo com Saladino seria uma solução mais inteligente do que uma guerra eterna.
Heraclius estava incluído no lado dos corajosos, cheios de princípios, entre amigos como Agnes de Courtenay, o irmão dela, Joscelyn de Courtenay e, até certo ponto, também, o já afastado pela coroa, Guy de Lusignan, e sua ambiciosa esposa, Sibylla.
Por mais que Arnoldo de Torroja se precavesse por viajar na companhia de um assassino por envenenamento, a verdade é que acabou morrendo envenenado durante a viagem. E foi sepultado em Roma.
Na época, apenas três homens em todo o mundo podiam imaginar, ou mais do que imaginar, o que havia acontecido. O primeiro era o novo papa, Lúcio III, que, decerto, recebeu de mãos dispostas a servir as informações suficientes retiradas dos arquivos do papado. O segundo foi o Mestre de Jerusalém, Arn de Gothia, que, na ausência do seu novo grão-mestre, por algum tempo, tornou-se o mais alto comando na Ordem dos Templários. O terceiro era o padre Louis.
Heradius havia envenenado não apenas um arcebispo, mas também um grão-mestre do santificado exército de Deus.
Mas tanto as más quanto as boas notícias viajavam lentamente nesses tempos, em especial, durante o inverno, época em que a navegação, muitas vezes, ficava reduzida a um mínimo. Arn teve conhecimento do assassinato do seu grão-mestre diretamente pelo padre Louis, quando chegou um dos cistercienses que viajavam permanentemente de Roma, depois de uma viagem de barco muito problemática.
Ambos ficaram de coração partido com a informação. No seu desespero, Arn afirmou em alto e bom som que agora ou nunca era preciso excomungar o assassino. O padre Louis salientou, ainda que triste, que a questão certamente ficou ainda mais difícil. Se Lúcio III <> viesse a excomungar Heraclius pelo assassinato anterior, a respeito do qual havia provas, então, simultaneamente, ele iria revelar que seu antecessor, Alexandre III, teria errado, cometendo uma grande falha. Era muito pouco provável que o novo Santo Padre viesse a escolher esse caminho.
— E quantos assassinatos mais serão necessários para escolher esse caminho? — perguntava Arn, desesperado, sem obter qualquer resposta.
Seria possível que um assassino, um devasso, um impostor e uma infelicidade para a Terra Santa recebesse uma proteção cada vez maior quanto mais crimes abomináveis praticasse?
Também para esta pergunta ele não conseguiu nenhuma resposta. Foi então que os dois fizeram as suas orações durante algum tempo, levando em conta que ambos compartilhavam de um segredo enorme.
Havia muito trabalho, entretanto, onde os dois podiam afundar a sua tristeza. O padre Louis, com a ajuda de Arn, conseguiu se infiltrar na corte de Jerusalém, onde passou a andar livremente e a ver facilmente o quanto os seus ouvidos tinham ficado mais afiados do que as pontas das flechas.
Como a autoridade mais elevada entre os templários, Arn recebeu a dupla missão de conduzir os assuntos de Jerusalém e os negócios da ordem como um todo. E ainda que esta última missão consistisse mais em assinar documentos e colocar neles o sigilo, todo esse trabalho exigia tempo e muita atenção.
Quando o inverno chegou no ano seguinte, o rei Balduíno IV convocou todo o Conselho Superior no Ultramar para apresentar sua última vontade. Isso significava que todos os barões de algum nível, tanto na Terra Santa como no condado de Trípoli, o principado de Antioquia e o único soberano cristão de além Jordão, Reynald de Châtillon, teriam de viajar para Jerusalém. Levou tempo para reunir todos e, durante a espera, Arn foi se sentindo, mais ou menos, transformado em anfitrião e responsável pelo alojamento desses convocados. A Ordem dos Templários possuía a maior parte dos alojamentos para convidados e as maiores salas de Jerusalém. Por isso, cada nova coroação terminava com uma grande festa, um banquete, justamente nas instalações dos templários. O palácio real jamais iria chegar para tudo.
Um dia antes de o rei apresentar sua última vontade, Arn organizou, como era de tradição, um grande banquete no salão nobre dos templários, situado no mesmo nível elevado da sua própria sala. Mas para o salão nobre existiam entradas e saídas especiais através de uma escada de pedra bem larga, que ascendia a partir do muro ocidental, de modo que os convidados seculares não perturbassem a paz na hora de entrar e sair. Foi tudo organizado com sabedoria, achou Arn, quando viu os convidados subir a escada, barulhentos e em muitos casos já bêbedos.
O salão nobre foi decorado com as bandeiras e as cores dos templários e no meio da mesa comprida, onde se situava o lugar do rei, penduraram as bandeiras conquistadas de Saladino na batalha de Monte Gisard. De uma maneira geral, a ornamentação do salão era severa, com paredes brancas e mesas de madeira escura.
Na mesa comprida, sentou-se a família real nos lugares principais ao centro, rodeada pelos proprietários de terras e barões, considerados mais chegados. De ambos os lados, nas pontas da grande mesa comprida, em duas mesas menores, anguladas, sentaram-se, como de hábito, os homens de Antioquia e de Trípoli, com o príncipe Bohemund e o barão Raymond no meio.
Na outra mesa, em frente, sentaram-se os templários e os hospitalários. Justo nessa mesa, havia a única mudança em relação ao que era de hábito, visto que Arn organizou tudo de modo que houvesse exatamente o mesmo número de hospitalários e templários nos lugares disponíveis, com ele próprio e o grão-mestre dos hospitalários, Roger des Moulins, no meio. Era uma mudança notável, visto que os templários sempre haviam feito questão de marcar que na sua casa os hospitalários não eram os convidados mais bem vistos.
Para Roger des Moulins, Arn explicou a mudança, dizendo que ele próprio nunca tinha entendido o sentido daquela disputa contra os hospitalários. Além disso, ele tinha sido muito bem recebido da única vez em que fora convidado dos hospitalários no forte de Beaufort e recebeu deles ainda todo o apoio na hora de retirar os seus feridos de lá. Possivelmente, ele apresentou essas razões inocentes para o seu gesto demonstrativamente amistoso em relação aos hospitalários, visto desejar que o grão-mestre deles pudesse escolher entre querer ou não querer dar o próximo passo, mais importante, para aproximar as duas ordens. A solidariedade entre os melhores cavaleiros cristãos tinha se tornado mais importante do que nunca.
Exatamente como Arn esperava, Roger des Moulins aproveitou a primeira oportunidade para falar seriamente com ele, enquanto degustavam um cordeiro assado com verduras e bebiam seu vinho. E parecia que estavam tendo a mais inocente das conversas, as que se costuma ter à mesa de jantar.
Roger des Moulins apontou para os lugares onde a realeza se sentava sob as bandeiras conquistadas de Saladino na mesa mais comprida e disse, conscientemente, que ali estavam sentados os homens e, em especial, as mulheres responsáveis pela queda da Terra Santa. Como sinal de que ele tinha razão, nesse momento, o patriarca Heraclius levantou-se, vacilante, do seu lugar, com o copo de vinho na mão, e se arrastou, falando alegremente, até o lugar vazio do rei e sentou-se, sem a menor timidez, ao lado da sua antiga amante, Agnes de Courtenay.
Ambos os irmãos, chefes das duas ordens, trocaram significativos olhares de aversão. E, em seguida, Arn retomou de imediato as idéias esboçadas por Roger des Moulins a respeito de uma aproximação entre os dois e disse que, por sua parte, as duas ordens espirituais de cavaleiros tinham agora responsabilidades ainda maiores pela Terra Santa, visto estar muito ruim a situação na corte real. Por isso, era preciso pôr de lado tudo o que fosse menos importante, quaisquer que fossem as pequenas controvérsias entre as duas ordens.
Roger des Moulins concordou de imediato com esse plano. Foi até um pouco mais longe, sugerindo que o próximo passo fosse a organização de uma grande reunião entre os irmãos superiores das duas ordens. Ao concordarem sobre esse passo decisivo, Arn colocou, então, uma pergunta furtiva a respeito da inesperada morte de Arnoldo de Torroja em Verona.
Roger des Moulins pareceu surpreso diante desta repentina mudança de assunto na conversa. Primeiro, ficou em completo silêncio e dirigiu um longo olhar, perscrutador, para Arn. Depois, disse com toda a franqueza que ele próprio e Arnoldo de Torroja tinham concordado, praticamente, em tudo o que dizia respeito ao futuro da Terra Santa durante aquela viagem e tinham falado, também, a respeito de procurar caminhos para apagar as velhas divergências entre tem-plários e hospitalários. Mas o tempo todo Heraclius perturbava com as interpretações mais infantis, de que aqueles que hesitavam em acabar com todos os sarracenos eram covardes. E pior ainda: o danado do devasso teve o desplante de dizer que Roger des Moulins e Arnoldo de Torroja, os dois, estavam no caminho contra a vontade de Deus, que ambos, como traidores e blasfemos, segundo seria de esperar, deviam deixar em breve este mundo.
E como Arnoldo de Torroja, de fato, deixara este mundo pouco tempo depois, de um jeito que pouco podia ter ligação com a vontade de Deus, Roger des Moulins passou a dar muita atenção ao que comia e bebia na presença do arquipecador Heraclius. Ele tinha, nomeadamente, as suas suspeitas bem definidas. E, por isso, perguntaria agora se Arn sabia alguma coisa que pudesse lançar alguma luz sobre as suas suspeitas.
A este respeito, Arn estava obrigado ao silêncio, diretamente, pelo Santo Padre, mas encontrou ainda uma maneira de responder sem responder.
— Os meus lábios estão selados — disse ele.
Roger des Moulins acenou com a cabeça, afirmativamente, em silêncio. Não precisava perguntar mais nada.
No dia seguinte, todos os convidados se reuniram novamente no salão nobre, alguns de olhos muito vermelhos e de mau hálito, depois da » longa jornada anterior de bebidas, para ouvir a última vontade do rei Balduíno IV.
Todos se levantaram no salão, quando o rei entrou numa pequena caixa coberta como se ele fosse pouco mais que uma criança. O rei, agora, já tinha perdido os braços e as pernas e já estava completamente cego.
A caixa com o soberano foi colocada em cima do trono enorme trazido para a sala, e diante dele, naquele pedaço livre do trono, colocaram a coroa real.
O rei começou a falar em voz fraca, mais para mostrar que ele podia falar e que estava no domínio de todos os seus sentidos. Mas, em breve, assumiu um dos seus escribas, não nenhum dos seus parentes que começaram a fazer caretas, para ler alto aquilo que o rei queria dizer, aquilo que ele já tinha registrado por escrito e carimbado com o seu sigilo real.
O sucessor no trono será, daqui em diante, o filho hoje com sete anos da minha irmã Sibylla.
Para regente na Terra Santa até a criança atingir a maior idade aos dez anos está nomeado o conde Raymond de Trípoli.
Fica estabelecido, especialmente, que em nenhuma circunstância Guy de Lusignan poderá assumir o lugar de regente ou de sucessor ao trono.
O conde Raymond, como pequeno agradecimento por seus serviços que ele agora pela segunda vez presta à Terra Santa como regente, receberá a integração da cidade de Beirute no seu condado de Trípoli.
O garoto e herdeiro do trono, Balduíno, será educado e viverá sob os cuidados do tio do rei, Joscelyn de Courtenay, até a sua maioridade.
Se o garoto e sucessor do trono falecer antes dos dez anos de idade, deverá ser nomeado um novo sucessor, indicado em conjunto pelo Santo Padre em Roma, o imperador alemão romano, o rei da França e o rei da Inglaterra.
Até que o novo sucessor seja indicado pelos quatro, o conde Raymond de Trípoli continuará como regente na Terra Santa.
O rei exigiu, então, que todos avançassem e, diante de Deus, jurassem obedecer a sua última vontade.
Poucos no salão fizeram o seu juramento de coração aberto e sem caretas, como o conde Raymond, seu bom amigo, o príncipe Bohemund, de Antioquia, Roger des Moulins, que jurou por todos os hospitalários, e Arn de Gothia, que jurou por todos os templários.
Outros, como o patriarca Heraclius, a mãe do rei, Agnes de Courtenay, seu amante Amalrik de Lusignan e o tio do rei Joscelyn de Courtenay, juraram obedecer, mas sem convicção. Mas, finalmente, todos juraram diante de Deus cumprir a última vontade do rei Balduíno IV. Pela última vez, também, foram levados os restos do rei ainda vivo, dentro da caixa, desaparecendo para sempre da vista dos presentes. Tal como a maioria imaginou, e daí surgiram um ambiente de tristeza e algumas lágrimas, ninguém mais iria ver o seu corajoso pequeno rei de novo, antes de ele baixar à cova na igreja do Santo Sepulcro.
Os convidados ainda estavam a caminho da saída do grande salão dos templários, num rumor cada vez maior, quando o conde Raymond, a passos largos, se dirigiu a Arn e, para surpresa dos circundantes, apertou a sua mão com sincero vigor e pediu hospedagem para ele e também para alguns outros que pretendia chamar. Arn concordou de imediato com o seu pedido, dizendo que os amigos do conde Raymond eram seus amigos também.
E assim se formaram dois grupos completamente diferentes que se reuniram à noite em Jerusalém para realizar um levantamento da situação. Depressiva ficou a situação no palácio real, onde Agnes de Courtenay, primeiro, teve um ataque de raiva, de tal maneira que ficou impossível falar com ela, e onde o patriarca Heraclius ficou andando pelas salas mugindo como um touro, de raiva e, afirmou ele, de desespero divino.
O ambiente era muito mais positivo nas salas separadas que pertenciam ao Mestre de Jerusalém. E não eram quaisquer amigos aqueles que o conde Raymond convocou para ficar. Eram o grão-mestre Roger des Moulins, dos hospitalários, o príncipe Bohemund, de Antioquia, e os irmãos d'Ibelin. Sem que o conde Raymond tivesse que pedir, Arn mandou uma boa quantidade de vinho para aqueles que, agora, estavam na sala, unidos por um juramento.
Todos estavam de acordo que aquele era um momento decisivo. Era uma oportunidade de ouro para salvar a Terra Santa e botar um freio, tanto em Agnes de Courtenay, no praticante habitual de inomináveis pecados, Heraclius, e seu amigo e notório criminoso, Reynald de Châtillon, que agora devia estar no palácio real, rangendo os dentes junto com o irmão de Agnes de Courtenay, o incompetente comandante militar Joscelyn.
Segundo o conde Raymond, muito tinha que ser feito o mais rápido possível. Antes de mais nada, era preciso negociar uma nova trégua com Saladino e justificar essa trégua com as chuvas de inverno, muito fortes, que conduziam a colheitas muito ruins para fiéis e infiéis. E desta feita o saqueador Reynald de Châtillon tinha que se conformar com o decidido.
Em pouco tempo, o rei, sem dúvida, iria morrer. Mas seu sobrinho doente e sucessor também não deveria viver muito, visto que, notoriamente, ele sofria de seqüelas da vida pecaminosa da corte. As crianças nascidas com tais doenças raramente conseguiam viver mais de dez anos, caso tivessem sobrevivido ao seu próprio nascimento.
E enquanto o papa, o imperador alemão e os reis da França e da Inglaterra, sempre em discussão um com o outro, não chegassem a um acordo em relação ao novo sucessor, o poder continuaria com a regência do conde Raymond. Ou ele ficaria nessa regência por um longo tempo ou, então, os quatro mandantes teriam de indicá-lo como sucessor ao trono.
Parecia, portanto, que o pequeno, mas corajoso, rei na sua caixa, mesmo assim, conseguiria salvar a Terra Santa como a última coisa que realizou na vida.
Justo nessa noite em Jerusalém não existia outra possibilidade prevista, nenhuma nuvem no céu, apesar de todos os homens entre os convidados de Agnes serem muito mais experimentados em lutas pelo poder do que ele próprio. Contra o alto conselho de jurados perante Deus, nem Agnes de Courtenay, nem o manhoso do seu irmão Joscelyn poderiam fazer muita coisa.
Eles viraram e reviraram durante horas as possíveis ou as quase impossíveis intrigas que a mulher má, seu amante patriarca e o incompetente irmão dela poderiam inventar na sua situação desesperada. Mas em lugar algum os mais experimentados cavaleiros do Ultramar viam qualquer saída para ela e seus seguidores.
Por isso e em ritmo com o vinho que corre mais fácil por gargantas alegres do que por gargantas tristes, a noite passou a servir logo para uma desenfreada narração de histórias. Muito tinha acontecido de maravilhoso, e muito de horrível, no Ultramar, desde que os cristãos chegaram.
O príncipe Bohemund, de Antioquia, era quem sabia tudo a respeito do homem que, mais do que qualquer outro, ameaçava a paz, Reynald de Châtillon.
Reynald era um homem que trazia a destruição dentro de si, como o gênio dentro da garrafa, contou o príncipe Bohemund. E ele sabia do que estava falando, já que conhecia Reynald desde a juventude. Foi então que Reynald chegou a Antioquia, vindo de algum lugar na França, e ficou ao serviço do pai do príncipe Bohemund. E de tal maneira se mostrou capaz nos campos de batalha que, dentro de poucos anos, foi premiado com a mão da irmã legítima do príncipe Bohemund, Constance.
Um homem de bom senso, com ambições normais, teria ficado por ali, príncipe de Antioquia, rico e protegido. Mas não Reynald, cujo apetite era incomensurável.
Queria sair para conquistas e saques, mas não tinha dinheiro e não podia esperar poder utilizar o dinheiro do tesouro do estado para as suas ambições particulares. Foi então que decidiu mandar amarrar o patriarca Aimery, de Limoges, nu e ao sol, espalhando mel pelo seu corpo. O patriarca, após algum tempo, não agüentou mais as tentativas de convencimento feitas pelas abelhas e pelo sol ardente e acedeu a emprestar ao tratante o dinheiro que ele pedia. »
A situação do caixa de guerra dependia apenas de encontrar oportunidades de boas pilhagens. E de todos os lugares, Reynald escolheu o Chipre, que era uma província do reino bizantino do imperador Manuel Komnenos. Entre todos os inimigos para atrair contra si!
O Chipre foi devastado mais cruelmente do que nunca por Reynald de Châtillon. Ele deixou que cortassem o nariz de todos os padres cristãos, que violentassem todas as freiras, que saqueassem todas as igrejas e que queimassem todas as colheitas. É claro que voltou rico para Antioquia. Mas praticamente sem honra.
Como qualquer um poderia contar, até mesmo, supõe-se, Reynald de Châtillon, o imperador Manuel Komnenos ficou furioso e mandou todo o seu exército bizantino contra Antioquia. Que Antioquia entrasse em guerra contra o imperador por causa de um único idiota, só porque era casado com uma das princesas, era impensável.
Reynald tinha, então, que escolher entre se entregar e vestir um hábito de penitência e arrastar-se pelo chão diante do imperador quando ele chegasse. E não havia muito mais o que escolher.
Por mais louco que possa parecer, ele acabou recebendo o perdão do imperador contra a devolução dos objetos roubados que ainda tivesse em seu poder.
Podia-se acreditar que qualquer homem no seu lugar iria pensar duas vezes e ficar um pouco mais calmo dali em diante. Mas não Reynald!
Apenas dois anos mais tarde, ele partiu para uma nova campanha de pilhagens contra cristãos armênios e sírios que, naturalmente, jamais esperaram ser atacados por crentes da mesma fé. Daí resultou uma pilhagem rica. E a morte de muitos cristãos também.
Mas muito carregado como resultado dos saques feitos, no caminho de volta para Antioquia, ele foi atacado e preso por Majd al-Din, de Aleppo. E, finalmente, acabou no lugar que lhe era devido, numa das prisões de Aleppo.
Claro, nenhum cristão queria pagar o resgate de um homem como Reynald e tirá-lo da prisão de Aleppo. Era mais seguro para todos se ele ficasse lá. E como ninguém queria pagar o resgate e soltar o criminoso, a história podia ter terminado da melhor maneira, com um final feliz.
Aqui, o príncipe Bohemund fez uma parada na sua história, ironicamente bebeu seu vinho à saúde de seu amigo, o conde Raymond, e explicou que tudo fora conseqüência de um erro de Raymond.
O conde Raymond soltou uma gargalhada e abanou a cabeça, pediu mais vinho, que logo recebeu de Arn, e disse que essa coisa de ser erro seu era ao mesmo tempo verdade e mentira.
Foi na guerra, há dez anos, contou ele. Saladino ainda estava longe de unir todos os sarracenos e daí valia também botar tantas pedras no seu caminho quanto possível. Então, em 1175, Saladino tinha um exército perto dos muros de Aleppo e outro diante dos muros de Homs. Valia impedir que ambas as cidades caíssem nas mãos dele. O conde Raymond havia mandado, então, o seu exército de Trípoli para estorvar o cerco de Homs. Saladino acabou sendo obrigado a afrouxar as garras à volta de Aleppo e partir em disparada para Homs-Dessa forma, Aleppo foi salva por muitos anos das mãos de Saladino.
Até então, portanto, tudo tinha funcionado como se esperava, suspirou o conde Raymond, com exagero. Mas o idiota do agradecido Gumushlekin, de Aleppo, quis demonstrar sua boa vontade para com os cristãos e achou por bem soltar uma parte dos presos. Maior desse serviço, no entanto, ele não podia ter feito aos cristãos. Nem maior desserviço, é claro, para Saladino, suspirou o conde Raymond, com um suspiro ainda mais profundo e mais exagerado, de maneira que todos ficaram esperando ansiosos pela continuação.
Entre os prisioneiros postos em liberdade como gesto de amizade pela salvação de Aleppo estavam Reynald de Châtillon e o incompetente irmão de Agnes de Courtenay, Joscelyn!
Os amigos ali reunidos soltaram, então, uma grande gargalhada, dobrando-se pelo meio, diante do desserviço praticado pelo atabeqen de Aleppo contra os seus amigos cristãos.
O resto todos conheciam, continuou o conde Raymond. Aquele que, na época, era paupérrimo e profundamente odiado por todos os <» homens de bom senso, Reynald de Châtillon, acompanhou Joscelyn de Courtenay até Jerusalém e tudo correu muito bem para eles, imerecidamente. Primeiro, morreu o rei Amalrik, e Balduíno IV assumiu o trono, embora ainda fosse uma criança. Aí voltou para a corte a sua mãe onde ela há muito tempo estava proibida de entrar, por razões sabidas. E, em breve, seu irmão Joscelyn já estava novamente por cima. Enfim, com a ajuda da malvada Agnes, Reynald pôde encontrar uma viúva rica, quer dizer, Stéphanie de Milly de Kerak e Montreal, na região de além-Jordão. E logo o patife se tornou comandante de fortaleza e rico de novo!
A questão era saber quem mais tinha ganho com este jogo de caprichos da vida, o diabo ou Saladino.
Ambos concordaram, rapidamente.
Do mesmo jeito, acharam os conjurados no quartel dos templários que, naquela noite, haviam posto um freio em Reynald. Isto porque se o doente rei Balduíno não teve forças para agir contra os repetidos crimes de Reynald contra todas as tréguas, e se o total incompetente Guy de Lusignan, durante o seu pouco tempo como regente, se mostrou do mesmo jeito paralisado, o conde Raymond assegurou, muito animado, que com ele como regente a música iria ser outra, em Jerusalém.
Restava, depois de ter falado de incompetentes e de patifes, saber onde tinha ido parar o tal Gérard de Ridefort, perguntou a si mesmo o conde Raymond. Gérard de Ridefort havia deixado Trípoli e o serviço junto do conde Raymond, furioso e injuriado, por ainda não ter encontrado a viúva que tanto queria, aquela que valesse o seu peso em ouro. Depois, tinha jurado vingar-se e se convenceu de que tinha de entrar para a Ordem dos Templários, que eram, ou que foram, corrigiu o conde Raymond, com um piscar de olho na direção de Arn, seus piores inimigos. E basta sobre o assunto. Mas o que aconteceu com esse mentecapto entre os templários?
Arn respondeu que o abençoado grão-mestre Arnoldo de Torroja havia feito do irmão Gérard o comandante da fortaleza de Chastel-Blanc.
O conde Raymond franziu a testa e achou que era sem dúvida um alto posto para alguém com tão pouco tempo de serviço. Com isso concordou Arn, mas ressaltando que, tal como ele tinha entendido, esse foi o preço que Arnoldo de Torroja se dispôs a pagar para manter Gérard de Ridefort tão longe de Jerusalém quanto possível. Gérard, ao que parece, já tinha arranjado até uma série de amigos inconvenientes na corte. Teria sido bom afastá-lo desses tais amigos.
A alegre conversa continuou até que começou a amanhecer, apesar de ser o período mais escuro do ano, em que a luz do dia chegava mais tarde.
Naquela noite, aliás, parecia que a Terra Santa podia ser salva do desastre que os incapazes, os arquipecadores e os intriguistas trabalhavam incessantemente para que acontecesse.
O rei Balduíno IV morreu logo como todos haviam previsto. O conde Raymond assumiu como regente em Jerusalém. Em breve reinava a paz na Terra Santa, os peregrinos começaram novamente a acorrer, inclusive com os seus muito esperados rendimentos. Realmente, parecia que tudo tinha mudado para melhor.
Foi então que desembarcou em São João do Acre o novo grão-mestre da Ordem dos Templários, Gérard de Ridefort. Veio de barco, chegando de Roma onde a ordem se reunirem concílio, com um número suficiente de irmãos líderes presentes, entre eles, o Mestre de Roma e o Mestre de Paris.
Gérard de Ridefort trouxe consigo um grupo de irmãos líderes que agora iriam assumir a liderança dos templários na Terra Santa. De imediato, viajaram a cavalo para Jerusalém.
O Mestre de Jerusalém, Arn de Gothia, recebeu a informação da chegada dos convidados de honra apenas com algumas horas de antecedência. Falou um pouco com o padre Louis a respeito do desastre que havia acontecido. Rezou bastante no interior do seu alojamento, parecido com qualquer cela num mosteiro cisterciense. Mas, de resto, não teve muito mais tempo para ordenar os preparativos necessários perante a chegada do novo grão-mestre a Jerusalém.
Quando o grão-mestre e o seu séquito, onde quase todos os cavaleiros tinham uma faixa negra ao longo da proteção lateral dos cavalos e nos seus mantos, se aproximaram de Jerusalém, foram recebidos por duas filas de cavaleiros de branco, colocados desde o portão de Damasco até o quartel dos templários, onde havia grandes archotes flamejantes na entrada e lá dentro tudo estava pronto para um banquete no grande salão.
Arn de Gothia, que estava na recepção diante da grande escada, se ajoelhou e abaixou a cabeça antes de pegar as rédeas do cavalo do grão-mestre para mostrar que ele próprio não era mais do que um cocheiro diante de Gérard de Ridefort. Assim mandava o Regulamento.
Gérard de Ridefort estava de muito bom humor, satisfeito com a recepção. Ao se sentar no lugar do rei à mesa do grande salão e depois de deixar que ele e seus companheiros fossem servidos, falou muito e bem alto sobre a grande graça recebida de poder voltar a Jerusalém.
Arn, em contrapartida, não estava com disposição e tinha dificuldade em esconder seu estado de espírito. Aquilo que para ele era o pior, ter de obedecer ao menor sinal a um homem que todos descreviam como sendo analfabeto, vingativo, indigno e com metade do tempo de serviço de Arn como templário. E pior ainda era saber que os templários tinham agora um grão-mestre que era inimigo jurado do regente, o conde Raymond. E, com isso, imediatamente, fechou o tempo de novo, com muitas nuvens, sobre a Terra Santa.
Depois da refeição, quando a maioria dos convidados foi alojada, o grão-mestre ordenou a Arn e a mais dois homens que Arn desconhecia, para segui-lo até as salas particulares. Ainda estava de muito bom humor, quase como se ele estivesse especialmente feliz diante das mudanças que pensava introduzir imediatamente.
Sentou-se, satisfeito, no lugar habitual de Arn, apoiou as pontas dos dedos umas contras as outras e ficou observando os outros três homens por momentos em completo silêncio. Os outros esperaram.
— Diga-me, Arn de Gothia... É assim que você se chama, certo? Diga-me, você e Arnoldo de Torroja eram muito amigos, segundo entendi? — perguntou ele, finalmente, com uma voz tão exagerada-mente suave que dava para captar seu ódio.
— Sim, grão-mestre, é verdade — respondeu Arn.
— Então, pode-se pensar que foi por isso que ele o elevou a Mestre de Jerusalém? — perguntou o grão-mestre, elevando a sobrancelha, satisfeito, como se tivesse acabado de ver tudo claro.
— Sim, grão-mestre, pode ser que tenha influenciado a escolha. Na nossa ordem, o grão-mestre nomeia quem quer — respondeu Arn.
— Bem, muito bem respondido — reagiu o grão-mestre, novamente satisfeito. — Aquilo que era bom para o meu antecessor também é bom para mim. Ao seu lado está James de Mailly, que tem servido como comandante de fortaleza em Cressing, na Inglaterra. Como você pode ver, ele usa um manto de comandante, certo?
— Sim, grão-mestre — respondeu Arn, de rosto inexpressivo.
— Então, gostaria de sugerir que vocês dois troquem de mantos, os dois parecem ser, mais ou menos, do mesmo tamanho! — ordenou o grão-mestre, conservando o seu tom de satisfação.
Segundo a tradição dos templários, haviam acabado de comer com os seus mantos à volta do pescoço, de modo que foi questão de minutos fazer uma vênia diante do grão-mestre e trocar de mantos e com isso de grau e de posto na Ordem dos Templários.
— Portanto, agora você é de novo comandante de fortaleza! — constatou Gérard de Ridefort, ainda satisfeito. — Seu amigo Arnoldo teve o prazer de me mandar para a fortaleza de Chastel-Blanc. Que é que você me diz de me substituir no meu antigo posto?
— Cabe a você mandar e a mim, obedecer, grão-mestre. Mas, de preferência, eu gostaria de assumir o meu antigo posto em Gaza — respondeu Arn em voz baixa, mas tranqüila.
— Gaza! — explodiu o grão-mestre, divertido. — Mas é um canto remoto comparado com Chastel-Blanc. Mas, se é isso que você
quer, eu concordo com o seu desejo. Quando é que poderá deixar Jerusalém?
— Quando você quiser, grão-mestre.
— Bom. Então, pode ser amanhã depois das laudes?
— É claro, como quiser, grão-mestre.
— Ótimo. Agora, pode ir. O Mestre de Jerusalém e eu temos muitas medidas importantes a tomar. Eu o abençôo e lhe desejo uma boa noite.
O grão-mestre virou logo as costas para Arn como se esperasse que este se desfizesse no ar e tivesse desaparecido. Mas Arn ficou no lugar, hesitante, até que o grão-mestre fingiu-se surpreso ao descobri-lo de novo e fez um gesto interrogativo com a mão.
— É meu dever informá-lo a respeito de um assunto, grão-mestre, uma informação que não posso apresentar a mais ninguém, a não ser a você e àquele que é o Mestre de Jerusalém, ou seja, o irmão James — disse Arn.
— Se foi Amoldo de Torroja que lhe deu essas instruções, eu as declaro nulas de imediato. Um grão-mestre vivo manda mais que um morto. Portanto, do que é que se trata? — perguntou Gérard de Ridefort, com audível tom de escárnio na voz.
— As instruções não vêm de Amoldo, mas do próprio Santo Padre em Roma — respondeu Arn, em voz baixa e com toda a cautela para não reagir ao tom de escárnio.
Pela primeira vez, o novo grão-mestre desceu do seu pedestal de autoconfiança, olhou em dúvida para Arn, por alguns momentos, antes de reconhecer que Arn estava falando sério e acenou para o terceiro irmão para deixar a sala.
Arn foi até o arquivo, algumas salas mais adiante, para trazer a bula do papa que descrevia, de um lado, como o patriarca Heraclius era um assassino, mas, de outro, como esse segredo devia ser mantido. Quando voltou, desenrolou o texto e colocou-o na mesa, diante do grão-mestre, fez uma vênia e recuou um passo.
O grão-mestre deu uma rápida olhada para a bula, reconheceu o sigilo do papa, mas viu que não conseguiria ler pelo fato de o texto estar em latim. Não teve escolha. Foi obrigado a se humilhar e pedir a Arn que lesse e traduzisse, o que Arn fez, sem mostrar nenhum sinal de surpresa.
Tanto o grão-mestre quanto o novo Mestre de Jerusalém, James de Mailly, perderam de imediato seu bom humor, quando tomaram conhecimento da má notícia. Heraclius foi o homem que mais do que ninguém, dentro da Igreja, trabalhou para que Gérard de Ridefort se tornasse grão-mestre. Por conseqüência, o novo grão-mestre tinha agora uma dívida de gratidão para com um assassino.
Arn recebeu sinal para ir embora e deixou logo o grão-mestre, com uma vênia profunda. Foi com uma inesperada sensação de alívio que Arn foi procurar se recolher num dos quartos para convidados. De repente, veio-lhe à mente a idéia de que faltava apenas pouco mais de um ano para terminar a sua penitência. Logo, logo, teria servido dezenove dos vinte anos que jurou ficar na Ordem dos Templários.
Era um novo e estranho pensamento. Até o momento em que ele foi despachado pelo novo grão-mestre Gérard de Ridefort e que, pela última vez, passou pelas maiores salas do quartel dos templários em Jerusalém, tinha sempre evitado contar os anos, os meses e os dias. Possivelmente, porque o mais provável sempre foi ele ser mandado para o Paraíso por algum inimigo, antes de servir os seus vinte anos.
Mas agora faltava apenas mais um ano e existia, além disso, uma trégua acordada com Saladino. Nenhuma guerra parecia iminente nos próximos anos. Poderia, portanto, sobreviver, poderia voltar para casa.
Nunca antes ele tinha sentido aquela forte saudade de casa. No começo do seu tempo na Terra Santa, os vinte anos pareciam uma eternidade e era impossível imaginar se havia tempo depois desse limite. E, nos últimos anos, tinha estado ocupado demais no seu abençoado trabalho como Mestre de Jerusalém para imaginar uma outra vida. Aquela noite, aquela, em especial, em que ele ficou sentado naquelas mesmas salas onde agora dominava Gérard de Ridefort e ficou falan-do a respeito do futuro da Terra Santa, com o conde Raymond, o príncipe Bohemund, Roger des Moulins e os irmãos Ibelin, todo o poder na Terra Santa e no Ultramar estava reunido na mesma sala e o futuro parecia brilhante. Juntos, todos eles puderam criar a paz com Saladino.
Agora, porém, as regras do jogo haviam virado de pernas para o ar. Gérard de Ridefort era inimigo de morte do regente, o conde Raymond. Todos os planos para aproximar templários e hospitalários, certamente, já teriam ido por água abaixo. Como se sentisse uma espécie de premonição, Arn suspeitava ter visto apenas o começo de uma mudança diabólica em toda a Terra Santa.
Ao voltar a Gaza, Arn pôde ficar satisfeito, pelo menos, por ver de novo seu amigo norueguês, Harald Dysteinsson, que, nessa altura, estava sinceramente cansado de cantar salmos e de suar todos os dias numa fortaleza distante sob um sol de rachar. Aquele pouco da guerra que Harald tinha visto na Terra Santa não lhe tinha caído bem no gosto e o ritmo de vida enfadonho numa fortaleza em tempos de paz parecia para ele ainda pior.
Para alegria de ambos, Arn teve a idéia de que, como comandante de fortaleza, podia decidir que os irmãos ou sargentos que soubessem nadar e mergulhar deviam manter essa capacidade em bom nível visto que se o porto de Gaza fosse bloqueado por uma frota inimiga e a cidade, ao mesmo tempo, estivesse cercada, essa capacidade podia permitir que, durante a noite, eles pudessem nadar e atravessar o bloqueio inimigo e isso seria de grande importância. Como ele próprio e Harald eram os únicos que, realmente, sabiam nadar e mergulhar, essa nova atividade passou a ser mais um prazer particular para eles do que uma séria preparação para a guerra. O Regulamento, na verdade, os proibia de treinar ao mesmo tempo nos pontões de Gaza, já que nenhum templário podia se mostrar despido perante outro irmão. E também não podia tomar banho por prazer. Por isso, eles tinham de nadar, um de cada vez, mas o prazer deles com esse suposto exercício de guerra era, decerto, muito maior do que a sua utilidade militar para os templários.
Alguns anos antes, Arn jamais teria pensado, de ânimo leve, em contornar o Regulamento, mas, agora, ao considerar o resto do tempo de serviço mais como uma espera do que dever sagrado, ele perdeu muito da sua anterior estrita seriedade. Ele e Harald começaram a falar de viajarem juntos. Como comandante, Arn podia liberar o sargento Harald do serviço em qualquer altura. Estavam de acordo que, numa longa viagem até a Escandinávia, era melhor fazê-la juntos.
Além disso, para princípio de conversa, seria até difícil imaginar como poderiam juntar dinheiro para a viagem. Nos últimos quase vinte anos, vivendo sem dinheiro, Arn deixou de pensar nele como um problema. Mas depois de alguma reflexão achou que, certamente, poderia pedir dinheiro emprestado para a viagem a algum dos cavaleiros seculares que conhecia. Na pior das hipóteses, ele e Harald teriam que trabalhar durante cerca de um ano, por exemplo, em Trípoli ou Antioquia, para arranjar recursos para a viagem.
Ao começar a falar sobre a viagem, isso fez com que aumentassem as saudades de casa. Começaram a sonhar com as paisagens que, desde há muito, haviam desaparecido das suas mentes. Reviam os rostos e ouviam os ruídos de antes e a sua própria língua. Para Arn, surgiu em especial a imagem do que uma vez teria sido o seu lar. Uma imagem mais forte do que qualquer outra. Todas as noites, ele revia Cecília e todas as noites ele rezava e pedia proteção à Virgem Maria para Cecília e o seu filho desconhecido.
A partir das mensagens que Arn recebia de vez em quando de viajantes entre Gaza e Jerusalém, ficava cada vez mais forte a sua impressão que tudo se encaminhava para uma iminente queda da Terra Santa. Em Jerusalém, já não se permitiam as orações profanas, nem médicos sarracenos ou judeus podiam mais trabalhar para os templários ou para os particulares. A inimizade entre hospitalários e templários tinha se tornado pior do que nunca, visto que os dois grão-mestres recusavam-se a falar um com o outro. E os templários pareciam fazer todo o possível para sabotar a trégua que o regente, o conde Raymond, tinha feito tudo para manter. Um sinal de alerta estava no fato de os templários terem se tornado amigos do saqueador de caravanas Reynald de Châtillon, em Kerak. Tal como Arn entendia, era apenas uma questão de tempo aquele homem recomeçar com as suas pilhagens e com isso acabar com a paz com Saladino, exatamente como os templários cada vez mais nitidamente queriam que acontecesse.
Mas Arn pensava mais, agora, na sua viagem de regresso e estava mais interessado em contar os dias que faltavam da sua permanência na Ordem dos Templários, do que se preocupava com as nuvens negras que surgiam no horizonte, a leste da Terra Santa. Ele defendia a sua posição perante ele próprio, dizendo que o seu trabalho não o poderia conduzir mais longe. Se Deus tinha retirado dele todo o poder dentro da Ordem dos Templários, então, ele nada podia fazer e, por isso mesmo, não podia se culpar pela nova atitude de apatia.
Durante esse ano sem grandes acontecimentos em Gaza, Arn dedicou várias horas mais do que o necessário por dia a cavalgar os seus cavalos árabes, o garanhão Ibn Anaza e a égua Umm Anaza. Eram de sua propriedade, a única permitida. Caso fossem encontrados os compradores corretos, a sua venda podia custear não uma, mas mais de uma viagem de volta para a Escandinávia, não só dele como também de Harald. Mas ele não tinha intenção alguma de, voluntariamente, se separar desses dois animais, já que, segundo o seu julgamento, eram os melhores que tinha visto e cavalgado. Ibn Anaza e Umm Anaza iriam inquestionavelmente acompanhá-lo até a Götaland Ocidental.
Götaland Ocidental. Ele falava esse nome da sua terra para si próprio, de vez em quando, como se fosse para ir se habituando à idéia.
Quando faltavam dez meses, chegou um cavaleiro com uma mensagem expressa do grão-mestre em Jerusalém. Arn de Gothia devia comparecer imediatamente com trinta cavaleiros em Ascalão para prestar um serviço de escolta importante.
Obedeceu rápido e sem hesitações, chegando a Ascalão já naquela mesma tarde.
O que aconteceu era muita coisa, mas já era esperado. A criança-rei Balduíno V morrera, sob os cuidados do seu tio Joscelyn de Courtenay, e os seus restos mortais seriam escoltados, então, para Jerusalém, junto com os convidados para o funeral, Guy de Lusignan, e a mãe, na aparência nada infeliz, Sibylla.
Já no caminho entre Ascalão e Jerusalém, Arn começou a perceber que a intenção da viagem era bem maior do que apenas lamentar e enterrar uma criança. Havia uma mudança de poderes em ebulição.
Dois dias mais tarde, quando Joscelyn de Courtenay proclamou a sua sobrinha Sibylla como sucessora, os planos dos golpistas ficaram claros.
No quartel dos templários, onde Arn agora ocupava um dos alojamentos dos cavaleiros rasos, ele foi encontrar um padre Louis muito angustiado que lhe pôde contar tudo.
Primeiro, Joscelyn de Courtenay chegou correndo a Jerusalém, encontrou-se com o regente, o conde Raymond, contou que a criança-rei Balduíno V tinha morrido e sugeriu que ele reunisse o conselho superior dos barões em Tiberíades, em vez de em Jerusalém. Dessa maneira, seria possível afastar a eventual interferência do grão-mestre dos templários, Gérard de Ridefort, que não se julgava preso a nenhum juramento para ter de obedecer à última vontade do rei Balduíno IV e do patriarca Heraclius, que também fazia o máximo para interferir em tudo.
Dessa maneira, o conde Raymond deixou-se enganar e saiu de Jerusalém. No seu lugar, entrou Reynald de Châtillon, acompanhado de muitos cavaleiros barulhentos de Kerak e foi, então, que Joscelyn de Courtenay proclamou a sua sobrinha Sibylla como sucessora no trono. Isso implicava, se efetivado, que o incompetente Guy de Lusignan, em breve, podia ser rei de Jerusalém e da Terra Santa. O conde Raymond, os irmãos Ibelin e rojos os outros que podiam ter evitado essa situação, tinham sido enganados e estavam fora. Todos os portões e muros à volta da cidade estavam vigiados pelos templários. Nenhum inimigo dos golpistas podia entrar na cidade. Nada parecia impedir o mal que estava prestes a atacar a Terra Santa.
O único que tentou contrariar os golpistas nos dias seguintes foi o grão-mestre dos hospitalários, Roger des Moulins, que se recusou a trair o juramento que fez ao rei Balduíno IV, diante de Deus. O patriarca Heraclius se considerava desligado de qualquer juramento e o o grão-mestre dos templários, Gérard de Ridefort, alegava não ter feito nenhum juramento e que o juramento feito pelo despedido Mestre de Jerusalém em seu nome não valia.
A coroação realizou-se na igreja do Santo Sepulcro. Primeiro, o saqueador de caravanas Reynald de Châtillon fez um forte discurso em que defendeu ser Sibylla, na verdade, a sucessora legítima ao trono, já que era filha do rei Amalrik e irmã do rei Balduíno IV, além de mãe do falecido rei Balduíno V. Em seguida, o patriarca Heraclius realizou a coroação de Sibylla que, por sua vez, pegou na coroa do rei e a colocou na cabeça do seu marido, Guy de Lusignan e entregou o cetro nas mãos dele.
Ao sair da igreja do Santo Sepulcro para comparecer ao habitual banquete no quartel dos templários, Gérard de Ridefort gritava de felicidade, dizendo ter realizado, com a ajuda de Deus, finalmente, sua grande e brilhante vingança em cima do conde Raymond, que àquela hora estava sentado em Tiberíades e não podia fazer nada a não ser se lamentar.
Arn assistiu à coroação por lhe ter sido entregue a responsabilidade da segurança das vidas dos novos soberanos. Achou que era uma missão amarga, visto que, na sua opinião, estes tinham cometido perjúrio e iriam causar a queda da Terra Santa. Revestiu-se, porém, de coragem, com o pensamento de que o tempo que lhe restava de serviço na Terra Santa era apenas de sete meses.
Para sua maior amargura, o grão-mestre Gérard de Ridefort chamou-o à sua presença, assegurou que não guardava rancores, contou que, pelo contrário, agora sabia muito mais do que desconhecia no momento em que, rapidamente, retirou de Arn o comando de Jerusalém. Tinham-lhe dito que Arn era um grande guerreiro, o melhor arqueiro e cavaleiro e, além disso, o vencedor em Monte Gisard. Por isso, queria agora reparar o acontecido, pelo menos em parte, dando-lhe uma missão honrosa, a de entrar para a guarda real.
Arn sentiu-se injuriado, mas nada demonstrou. Contou o tempo que faltava para o dia 4 de julho de 1187, dia em que, vinte anos antes, havia jurado obediência, pobreza e castidade por, justamente, esse prazo.
Aquilo que ele viu durante o curto período em que foi responsável pela segurança dos soberanos não o surpreendeu nem um pouco. Guy de Lusignan e sua esposa Sibylla viviam mais ou menos a mesma vida noturna do patriarca Heraclius, a mãe de Sibylla, Agnes, e o irmão desta, Joscelyn de Courtenay.
Antes, durante o serviço, Arn chegou a chorar por ver que todo o poder na Terra Santa estava reunido nas mãos desses pecadores infernais. Agora, já estava mais resignado. Era como se tivesse se reconciliado com a idéia de que a punição de Deus só poderia ser uma, a perda de Jerusalém e da Terra Santa.
No final desse ano, como era esperado, Reynald de Châtillon rompeu a trégua aprazada com Saladino e saqueou a maior caravana que passara no caminho entre Meca e Damasco. Que Saladino tivesse ficado furioso não foi difícil de entender: um dos viajantes levado para a prisão do forte de Kerak foi a sua irmã. Em breve, ficou conhecido em Jerusalém que Saladino havia jurado diante de Deus matar Reynald com as suas próprias mãos.
Quando os negociadores de Saladino se apresentaram ao rei Guy de Lusignan para exigir indenização pelo crime cometido contra a trégua combinada e a liberação imediata dos prisioneiros, Guy disse não poder prometer nada. Não tinha nenhum poder sobre Reynald de Châtillon, lamentou ele.
Com isso, desperdiçou-se a oportunidade de evitar uma guerra futura.
O príncipe Bohemund, entretanto, celebrou rapidamente a paz entre Antioquia e Saladino e o conde Raymond fez o mesmo, respondendo tanto pelo seu condado de Trípoli quanto pelas terras de sua esposa Escheva à volta de Tiberíades, na Galiléia. Tanto Bohemund, como Raymond disseram não ter qualquer responsabilidade por aquilo em que a corte de loucos em Jerusalém havia se metido e disso logo fizeram Saladino saber.
Agora, estava prestes a acontecer a guerra entre cristãos. Gérard de Ridefort conseguiu convencer o rei Guy de que era preciso mandar um exército para Tiberíades para sufocar de uma vez por todas o conde Raymond. E o rei Guy se submeteu. E, assim, um exército real, fortalecido com templários, começou a ser preparado para investir contra Tiberíades.
À última hora, Balian d'Ibelin conseguiu interferir junto do rei e chamá-lo à razão. A guerra civil significaria o mesmo que a morte. E dali a pouco haveria uma guerra total contra Saladino. O que era preciso agora, argumentava Balian d'Ibelin, era um acordo com o conde Raymond, e ele se oferecia para integrar a embaixada a enviar a Tiberíades para negociar.
Para negociadores foram nomeados ambos os grão-mestres, Gérard de Ridefort e Roger des Moulins, e Balian dlbelin e o bispo Josias de Tiro. Alguns poucos cavaleiros hospitalários e templários seguiram junto como escolta. Arn de Gothia estava entre eles.
Em Tiberíades, o conde Raymond, entretanto, ficou numa situação difícil. Para provar a seriedade da paz acertada entre eles, Saladino mandou o seu filho, ai Afdal, com o pedido de autorização para enviar por um dia uma grande força de reconhecimento para a Galiléia. O conde Raymond concordou, com a condição de que essa força entrasse na região ao nascer do sol e saísse na hora do poente. E foi isso que ficou combinado.
Ao mesmo tempo, Raymond mandou cavaleiros seus para avisar a esperada embaixada de negociadores, a fim de que se evitassem as garras da força inimiga.
Perto de Nazaré, os mensageiros do conde Raymond encontraram o grupo de negociadores e apresentaram o aviso. Receberam todos os agradecimentos do grão-mestre dos templários, Gérard de Ridefort, pela mensagem, mas não exatamente pelos motivos que os mensageiros podiam imaginar.
Gérard de Ridefort achou que aquela era uma oportunidade única de destruir uma das forças de Saladino. Despachou uma mensagem para o forte de La Fève onde estava o novo Mestre de Jerusalém, James de Mailly, com noventa cavaleiros. Na cidade de Nazaré, conseguiu juntar mais uns quarenta cavaleiros e alguns peões. E ao sair de Nazaré para procurar ai Afdal e a sua força de cavaleiros sírios, Gérard de Ridefort ainda instigou os nazarenos a seguir a pé, porque haveria uma pilhagem muito rica a fazer, assegurou ele.
O bispo Josias de Tiro, prudentemente, permaneceu em Nazaré, dizendo que não tinha sido mandado para fazer outra coisa a não ser negociar. Dessa decisão, ele jamais teve que se arrepender.
Uma força cristã de cento e quarenta cavaleiros bem armados, a maior parte formada por templários, mais uma centena de soldados a pé, era evidentemente uma força imponente. Mas quando, como esperado, encontraram o inimigo perto das fontes de Cresson e olharam para baixo, a partir das encostas, mal puderam acreditar no que viram. O que viram não podia ser descrito como uma força de reconhecimento. Próximo das fontes de Cresson estavam cerca de sete mil lanceiros mamelucos e arqueiros sírios montados, todos deixando que seus cavalos bebessem água.
Era só aplicar pura matemática e nada mais. Se eram cento e quarenta cavaleiros, dos quais a maioria formada por templários e hospitalários, eles podiam enfrentar, sob condições propícias, possivelmente, setecentos mamelucos e arqueiros sírios. Setecentos, não sete mil.
O grão-mestre dos hospitalários, Roger des Moulins, sugeriu, por isso, com toda a calma, que era melhor bater em retirada. Da mesma opinião foi o comandante militar dos templários, James de Mailly.
Mas o grão-mestre Gérard de Ridefort tinha uma opinião completamente diferente. Ficou fora de si e acusou os outros de covardia. Ofendeu James de Mailly, dizendo que este tinha medo demais e não queria arriscar a sua cabeça loura pela causa de Deus. Que Roger des Moulins era um grão-mestre desprezível. E muito mais.
Arn, que nessa altura detinha uma posição muito baixa para ser inquirido, estava a uma pequena distância dali, montado no seu gara-nhão franco Ardent, mas não tão longe que não pudesse ouvir sem dificuldade toda a conversa feita aos gritos. Para ele, era claro que Gérard de Ridefort devia estar maluco. Um ataque à luz do dia com uma desproporção dessas entre as duas forças, com o inimigo já tendo descoberto o perigo, tendo montado e começado a adotar formatura de combate, só podia resultar em morte.
Gérard de Ridefort, no entanto, foi irredutível. Queria atacar. Com isso, os hospitalários e os outros também tinham que segui-lo no ataque, visto que a honra não oferecia outra escolha.
Ao se colocarem em posição de combate, Gérard chamou Arn e pediu a ele para ser o porta-bandeira, visto que essa função exigia um cavaleiro especialmente ousado e competente. Quer dizer, Arn tinha que cavalgar ao lado do grão-mestre com a bandeira dos templários e ao mesmo tempo funcionar como escudo do grão-mestre, pronto para a todo momento dar a sua vida para defender o irmão mais categorizado. O grão-mestre e a bandeira eram os últimos a perder na luta.
De todos os sentimentos de Arn, o medo não era o mais forte, nem na hora de alinhar com os outros para o ataque. Seu sentimento mais forte era o desapontamento. Havia chegado tão próximo da liberdade! E precisava morrer agora por um capricho idiota, uma morte sem sentido, tal como a de outros na Terra Santa, obrigados a obedecer a líderes loucos ou incompetentes. Pela primeira vez, a idéia de fugir atravessou a sua cabeça. Mas aí ele relembrou o seu juramento. Restavam pouco mais de dois meses apenas. A sua vida era finita, mas sua honra era infinita, eterna.
O grão-mestre mandou que ele desse ordem de ataque. E, então, Arn levantou e baixou a bandeira três vezes, e cento e quarenta cavaleiros partiram, sem hesitar, direto para a morte.
Gérard de Ridefort, no entanto, cavalgou um pouco mais lento que todos os outros e como Arn tinha por dever acompanhá-lo, também ele avançou mais devagar. Justo no momento em que os primeiros cavaleiros avançavam pelo mar de cavaleiros mamelucos adentro, Gérard de Ridefort desviou para a direita, em ângulo reto, e Arn continuou a segui-lo, erguendo o escudo contra as flechas que, no momento, começavam a assobiar à volta deles, sendo que uma parte delas atravessava a malha de aço. Gérard de Ridefort completou, então, a virada, afastando-se com Arn e a bandeira do ataque que ele próprio havia provocado.
Nem um único dos hospitalários e templários sobreviveu ao ataque realizado, nas fontes de Cresson. Entre os mortos, ficaram Roger des Moulins e James de Mailly.
Uma parte dos cavaleiros seculares, reunidos em Nazaré, foi feita prisioneira para trocar por resgates futuros. Os habitantes de Nazaré que vieram a pé, atraídos pela promessa de Gérard de Ridefort de ricas pilhagens, foram rapidamente agrupados, amarrados e arrastados para o mercado de escravos mais próximo.
Naquela tarde, pouco antes de o sol se pôr, o conde Raymond viu dos seus muros em Tiberíades as forças de Al Afdal se retirarem, exatamente como combinado, atravessando o rio Jordão para deixarem a Galiléia antes do final do dia.
À frente das forças sarracenas, iam os lanceiros mamelucos. Levavam mais de cem cabeças barbudas nas pontas das suas lanças bem elevadas.
Essa visão era o argumento mais forte que qualquer grupo de negociadores poderia ter apresentado a Raymond. Ele não podia ser chamado de traidor. Tinha que denunciar seu tratado de paz com Saladino e, por muito que doesse, jurar fidelidade ao rei Guy de Lusignan. Qualquer outra saída ele não tinha. Nenhuma decisão mais amarga do que essa ele jamais havia sido obrigado a tomar.
Mais tarde, naquele verão, Saladino atacou a sério, reunindo o seu maior exército de todos os tempos mais de trinta mil cavaleiros. Estava disposto a tentar chegar a uma solução definitiva.
Arn recebeu a mensagem em Gaza para onde ele se recolheu, a fim de ficar aos cuidados médicos de sarracenos que trataram dos seus ferimentos causados por flechas nas fontes de Cresson. O rei Guy tinha proclamado arrière-ban, o que significava que todos os homens em condições de lutar, sem exceção, estavam sendo chamados para lutar pela bandeira da Terra Santa. Hospitalários e templários esvaziaram de cavaleiros todas as fortalezas, deixando no lugar apenas um pequeno número de elementos de comando e sargentos para fazer a manutenção e a defesa a partir dos muros.
Entre os que Arn deixou em Gaza estava Harald Dysteinsson, pois um arqueiro como ele valia por dez, atirando dos muros onde a defesa era tão precária.
Qualquer premonição do que ia acontecer ele não tinha. Com esse arrière-ban proclamado, só os hospitalários e os templários em conjunto formavam uma força de quase dois mil homens. Além disso, viriam quatro mil cavaleiros seculares e entre dez e vinte mil arqueiros e peões. Segundo a experiência de Arn, nenhuma força sarracena, por maior e mais forte que fosse, poderia ganhar deles. Estava mais preocupado pelo fato de esse grande exército poder ser atraído por alguma das manobras de despiste praticadas por Saladino e com a perda de alguma dessas cidades, deixadas com muito poucos defensores.
Não podia nem imaginar que o idiota Gérard de Ridefort pudesse repetir o mesmo erro como no caso das fontes de Cresson. Além disso, só os templários, isto é, Gérard de Ridefort, não deviam comandar todo o exército cristão.
Quando chegou a São João do Acre, com os seus sessenta e quatro cavaleiros e quase cem sargentos, de Gaza, Arn tinha menos de uma semana de serviço a cumprir pelos templários. Mas não pensava muito nisso. Não gostaria de terminar seu serviço no meio de uma guerra. Mas logo depois da guerra, mais para o outono, quando as chuvas jogassem Saladino para além do rio Jordão, aí a viagem de volta começaria. Götaland Ocidental, pronunciava ele na sua linguagem de infância, como que saboreando as palavras estranhas.
Em pleno verão quente, a enorme concentração em São João do Acre transformou-se num acampamento de exército impossível de abarcar com a vista. Na fortaleza, reuniu-se o conselho de guerra onde o irresoluto rei Guy, como de costume, logo se viu envolvido por todos os lados de homens que se odiavam uns aos outros.
O novo grão-mestre dos hospitalários contradizia tudo o que Gérard de Ridefort dizia. E o conde Raymond contradizia tudo o que os dois grão-mestres recomendavam. O patriarca Heraclius falava contra todos.
O conde Raymond, de início, recebeu algum apoio da parte dos presentes. Era a época mais quente do ano, salientou ele. Saladino tinha entrado pela Galiléia com a sua força enorme, maior do que nunca, saqueando tudo por onde passava. Entretanto, com tantos cavalos e cavaleiros, precisava fornecer, o tempo todo, água, feno e transporte de comida de vários lugares. Se não encontrasse resistência de imediato, o que, certamente, seria a sua esperança, o seu exército se cansaria por impaciência e pelo calor, como tantas vezes já tinha acontecido com os sarracenos.
Pelo lado dos cristãos, podia-se esperar o momento propício, com toda a tranqüilidade, e atacar quando os sarracenos desistissem e estivessem a caminho de casa. Assim, seria possível obter uma grande vitória. O preço a pagar era a devastação que se fazia necessário agüentar durante o tempo de espera, mas esse preço não seria muito alto, caso se pudesse vencer Saladino de uma vez para sempre.
Que Gérard de Ridefort tivesse outra idéia não surpreendeu ninguém, nem que tivesse começado a chamar o conde Raymond de traidor. Nem mesmo o rei Guy já se deixava impressionar diante dessas diatribes irrefletidas.
Em contrapartida, o patriarca Heraclius conseguiu fazer com que o rei Guy o ouvisse, dizendo que era preciso atacar de imediato. Aquilo que o conde Raymond disse podia parecer o mais sensato. Portanto, iriam surpreender o inimigo, caso fizessem o que não parecia o mais sensato.
Além disso, desta vez, segundo Heraclius, a Santa Cruz seria levada junto. E quando, perguntou dramaticamente, tinham os cristãos perdido uma luta em que a Santa Cruz esteve presente? Nunca, respondeu ele mesmo.
Por isso, era pecado duvidar da vitória com a Santa Cruz presente. Através de uma vitória rápida, todos aqueles que tivessem pecado pela dúvida ficariam purificados.
Portanto, seria melhor e, além disso, mais agradável para Deus, se a vitória viesse de imediato.
Infelizmente, a sua saúde não permitia, continuou Heraclius, que ele próprio levasse a Santa Cruz para a luta. Essa missão, no entanto, ele dava sem preocupações ao bispo de Cesaréia. O principal era que a mais santa das relíquias estivesse presente e garantisse a vitória.
Nos últimos dias de junho do ano da graça de 1187, o exército cristão iniciou, então, a sua caminhada para a Galiléia para enfrentar Saladino, durante os dias mais quentes do ano. Viajaram durante dois dias para as fontes abençoadas de Sephoria, onde havia água e feno em quantidade. Aí eles receberam a mensagem de que Saladino tinha tomado a cidade de Tiberíades e cercava agora o forte.
Tiberíades era uma cidade do conde Raymond. No forte, estava a sua esposa, Escheva. No exército cristão em Sephoria, estavam os três filhos de Escheva que agora pediam uma rápida ação de apoio para a sua mãe. O rei parecia concordar com isso.
Então, o conde Raymond pediu a palavra. Fez-se silêncio e nem mesmo Gérard de Ridefort ficou murmurando ou perturbou o ambiente de qualquer outra maneira.
— Sire— começou o conde Raymond, tranqüilo, mas elevando a voz para que todos o ouvissem. — Tiberíades é minha cidade. Na fortaleza, está a minha mulher, Escheva, e a minha arca do tesouro. Sou eu que mais tem a perder se o forte cair. Por isso, o senhor deve, realmente, levar as minhas palavras a sério, Sire, quando digo que não devemos atacar Tiberíades. Aqui, em Sephoria, tem água e podemos nos defender bem. Aqui, os nossos soldados a pé e os nossos arqueiros podem infligir aos sarracenos atacantes grandes perdas. Mas, se formos contra Tiberíades agora, perderemos. Eu conheço a região. No caminho, não existe uma gota de água e nada de pasto. A região, nesta época do ano, é como se fosse um deserto. Se Saladino tomar a minha fortaleza e derrubar seus muros, mesmo assim, de qualquer maneira, não poderá mantê-lo. E eu posso reconstruir os muros. Se levar a minha mulher, posso pagar o resgate. Isso é o que nós temos a perder. Mas, se formos contra Tiberíades agora no calor do verão, vamos perder a Terra Santa.
As palavras do conde Raymond impressionaram muito. De momento, convenceram todos e o rei Guy decidiu, então, que se devia ficar em Sephoria.
Mas de noite Gérard de Ridefort procurou o rei Guy na sua tenda e explicou que Raymond era um traidor, que tinha um pacto com Saladino e que, por isso, não se devia seguir os seus conselhos. Pelo contrário, havia uma oportunidade para o rei Guy obter uma vitória decisiva contra o próprio Saladino, já que um exército assim tão grande nunca a Terra Santa havia reunido antes para atacar Saladino. Além disso, a Santa Cruz estava presente, portanto, a vitória estava prometida por Deus. O que Raymond queria era apenas roubar do rei Guy a honra de, no fundo, ter vencido Saladino. Além disso, ele tinha inveja por ter perdido a regência quando Guy se tornou rei. Possivelmente, ansiava pela coroa de qualquer maneira e, por isso, precisava evitar que Guy vencesse.
O rei Guy acreditou em Gérard de Ridefort. Se, pelo menos, ele tivesse o entendimento suficiente para deixar que o exército se pusesse em marcha para Tiberíades durante a noite, talvez a história fosse outra. Mas ele queria dormir primeiro, disse ele.
Ao amanhecer, no dia seguinte, o grande exército cristão iniciou a marcha para Tiberíades.
Primeiro, avançaram os hospitalários. No meio, o exército secular. E, por último, os templários, onde o esforço devia ser maior.
Gérard de Ridefort proibiu a presença da cavalaria leve dos turcos entre os templários. Achava que isso seria profano. Arn, assim como todos os outros irmãos, tiveram de cavalgar sobrecarregados e com poucos peões à sua volta para defender os cavalos. Por isso, tiveram de revestir o corpo e os cavalos com todas as armaduras pesadas e quentes, logo desde o início da marcha.
Diante de um exército cristão pesado que se aproximava, os sarracenos se comportavam sempre da mesma maneira. Mandavam enxames de cavaleiros leves que passavam junto das colunas inimigas, disparando flechas contra elas, desviavam em seguida seus cavalos leves e rápidos e desapareciam. E aí vinha um novo enxame. Assim começou já cedo, pela manhã. o
Os templários receberam ordens para não deixar a sua formatura sob nenhuma hipótese. Não podiam atirar de volta. Não tinham mais a cavalaria ligeira nas laterais, já que foram considerados profanos os seus cavaleiros turcos pelo grão-mestre. Dentro de algumas horas, todos os templários tinham sido atingidos por flechas, recebendo ferimentos que, sem dúvida, na maioria eram pequenos, mas muito dolorosos no calor.
Tornou-se um dia muito quente, com ventos dos desertos do sul. E como disse o conde Raymond, não havia uma gota de água durante todo o caminho. Desde o amanhecer até o anoitecer, os cristãos precisavam atravessar o corredor onde eram atacados, permanentemente, de ambos os lados por cavaleiros ligeiros e suas flechas. De início, arrastavam os seus mortos, mas logo passaram a deixá-los onde eles caíam.
Já no fim da tarde, chegaram próximo de Tiberíades e viram o lago brilhando e refletindo o sol poente. O conde Raymond tentou convencer o rei a atacar de imediato para chegar à água, antes de ficar totalmente escuro. Se depois de um dia horrível como aquele, sem água, eles esperassem uma noite inteira também sem água, no dia seguinte seriam derrotados, assim que o sol nascesse.
Gérard de Ridefort achava, no entanto, que iriam lutar muito melhor se dormissem primeiro. E o rei Guy, que confessou estar bastante cansado, achou isso razoável e deu ordens para acampar no lugar e passar ali a noite.
O acampamento foi erguido nas encostas, perto da aldeia de Hattin, onde havia dois pequenos montes entre as montanhas baixas, no que era chamado de Chifre de Hattin. Como eles pensavam, pelo menos poderiam refrescar-se e dormir, antes da decisão do dia seguinte.
Quando o sol desceu no horizonte e era hora de rezar para o exército sarraceno que, agora, estava à vista para os exaustos cristãos, Saladino agradeceu a Deus, junto da praia, pelo presente recebido. Lá em cima, perto do Chifre de Hattin, numa situação impossível, estava todo o exército cristão, quase todos os templários e todos os hospitalários, o soberano cristão e todos os seus homens mais próximos. Deus tinha servido a vitória definitiva num prato de ouro. O que restava fazer era apenas agradecer a Ele e, depois, fazer a obrigação que Ele tinha assinalado para os Seus.
A obrigação consistia, de início, em colocar fogo no mato rasteiro e seco ao sul do Chifre de Hattin para que o acampamento cristão fosse envolvido em breve por uma fumaça mordaz que faria da idéia de uma noite tranqüila de descanso, diante da luta definitiva, um pensamento impossível.
Pela manhã, quando a luz do dia chegou, os cristãos estavam cercados por todos os lados. O exército de Saladino não dava o menor sinal de atacar, já que o tempo trabalhava a seu favor. O sol subiu inclemente, sem que o rei Guy tomasse qualquer decisão.
O conde Raymond foi um dos primeiros a montar no cavalo. Trotou em volta do acampamento até chegar ao lugar onde estavam os templários. Aí, procurou por Arn e sugeriu que ele juntasse os seus homens e o seguisse para abrir uma brecha nas forças inimigas. Arn, porém, recusou a proposta, indicando que estava sob juramento até, justamente, ao fim desse dia e não podia desonrar sua palavra perante Deus. Eles se despediram, então, com Arn desejando ao conde Raymond toda a felicidade do mundo e que ficaria rezando para que ele tivesse sorte na sua tentativa.
E rezar, ele rezou mesmo.
O conde Raymond ordenou que seus homens, todos cansados, montassem, e fez uma pequena exortação, explicando que era para investir tudo numa única tentativa. Se a incursão fracassasse, eles iriam morrer, era verdade. Mas morreriam todos que ficassem para trás no Chifre de Hattin.
Dito isto, mandou reunir a tropa, com uma formação de ataque em cunha, em vez da formação normal em linha lateral. E, então, deu sinal de ataque e partiu em velocidade contra o paredão compacto de inimigos, todos de costas para toda a água existente no mar da Galiléia. Era como se estivessem de guarda às águas.
Diante do assalto da tropa de Raymond, os sarracenos abriram uma brecha na sua frente, uma autêntica rua por onde Raymond e seus cavaleiros entraram e desapareceram. E, então, os sarracenos fecharam a frente de novo.
Só muito mais tarde é que descobriram do alto do Chifre de Hattin que o conde Raymond e seus cavaleiros tinham desaparecido até no horizonte, sem serem seguidos. Saladino os tinha poupado.
Gérard de Ridefort ficou, então, furioso e fez um longo discurso sobre traidores e ordenou a todos os seus templários para montar nos cavalos.
E, então, os sarracenos soltaram seus gritos de alarme ao ver os templários se prepararem para o ataque. Eram ainda uns setecentos homens e nunca qualquer sarraceno tinha visto uma força tão grande de templários. E todos sabiam que era naquele momento que tudo iria se decidir. Chegava a hora da verdade.
Seriam esses demônios brancos impossíveis de vencer? Ou eram seres humanos como todos os outros, que sofriam como todos os outros por passar um dia inteiro sem água?
Quando os hospitalários viram os templários se prepararem para atacar, fizeram o mesmo. E, então, o rei Guy deu ordem também ao exército real para se levantar.
Mas Gérard de Ridefort não esperou pelos outros e avançou encosta abaixo, antecipadamente, com toda a força reunida de seus cavaleiros. O inimigo abriu caminho, imediatamente, se afastando para eles, de modo que o primeiro e grande choque não aconteceu como haviam pensado. Depois, tiveram que tentar voltar, pesados e lentos como estavam, e com a água à vista, o que iria perturbar violentamente seus cavalos, tentando, então, obrigá-los a voltar de novo para os montes de onde vieram. Na virada, encontraram pela frente os hospitalários que não tiveram tempo para os acompanhar na descida e atacar ao mesmo tempo. Os hospitalários tiveram que frear o ataque e aconteceu uma desordem mortal de templários e hospitalários virando-se para todos os lados.
Os lanceiros mamelucos atacaram, então, por trás, com força total. Gérard de Ridefort perdeu metade dos seus cavaleiros. As perdas dos hospitalários foram ainda maiores.
Mais uma vez, tentou-se reunir todas as forças cristãs para realizar um novo ataque. Mas alguns soldados perderam a cabeça por causa da sede, tiraram os seus elmos e correram de braços abertos para o lago. Eles atraíram muitos outros e uma horda de soldados correram, assim, para a morte. Com a maior facilidade, ficaram presos pelos lanceiros egípcios.
O segundo ataque dos cavaleiros cristãos foi melhor do que o primeiro, e eles chegaram praticamente a uns cem metros da água, mas tiveram que voltar. Quando se reuniram de novo em volta da tenda do rei, já dois terços do exército cristão tinham ficado para trás.
Era a hora de Saladino atacar em grande escala.
Arn havia perdido o seu cavalo, atingido por uma flecha no pescoço. E não conseguia pensar ou ver claramente o que acontecia à sua volta. A última coisa de que se lembrava era a de estar junto com outros irmãos que também haviam perdido seus cavalos, costas contra costas, rodeados por soldados sírios, e que ele tinha atingido vários deles com a sua espada ou com a sua maça que segurava na mão esquerda. O escudo ele perdera ao cair com o cavalo.
Arn jamais compreendeu como e por quem ele foi derrubado.
Quando o exército franco, finalmente, sucumbiu, os templários e hospitalários, presos ainda vivos na última hora, no Chifre de Hattin, receberam todos água para beber, quando, em duas longas filas, ficaram de joelhos diante do pavilhão da vitória de Saladino, na praia.
Dar água para eles não foi exatamente um ato de clemência, mas para que eles pudessem falar. A decapitação começou do lado mais baixo da praia e terminaria dentro de umas duas horas junto do pavilhão da vitória.
Os irmãos sobreviventes eram duzentos e quarenta e seis templários e, mais ou menos, o mesmo número de hospitalários. Isso significava que ambas as ordens estariam praticamente extintas em toda a Terra Santa.
Saladino chorou de felicidade e agradeceu a Deus, ao observar o início da decapitação. Deus tinha sido incompreensivelmente bom para ele. Finalmente, ele tinha batido as duas terríveis ordens, visto que aqueles que agora estavam perdendo suas cabeças eram os últimos. As suas fortalezas quase vazias iriam cair como frutas maduras. O caminho para Jerusalém, finalmente, estava aberto.
Os cavaleiros seculares aprisionados foram tratados como habitualmente, de uma maneira diferente. E depois de Saladino se satisfazer durante momentos vendo templários e hospitalários perdendo as suas cabeças, uma a uma, voltou para o pavilhão da vitória, para onde os seus prisioneiros mais importantes foram convidados, entre eles, o infeliz rei Guy de Lusignan e o seu mais odiado inimigo, Reynald de Châtillon, sentado ao lado do soberano. Ao lado dele, sentava-se o grão-mestre Gérard de Ridefort, que, eventualmente, acabaria não sendo um prisioneiro de especial valor. Mas nada de certezas antes de fazer uma tentativa, achava Saladino. Diante da morte, homens que antes se mostraram corajosos e honrados, às vezes, se transformavam da forma mais deplorável que se possa imaginar.
Um dos mais altos e mais valiosos prisioneiros francos, porém, não tinha nenhuma compaixão a esperar. Saladino, diante de Deus, tinha jurado que mataria com as suas próprias mãos Reynald de Châtillon e isso ele ia fazer com a sua espada. De imediato, tranqüilizou os outros prisioneiros, dizendo que, naturalmente, eles não seriam tratados da mesma maneira. Deu a todos água para beber, que ele próprio fez questão de entregar um a um.
Lá fora, durante a decapitação, muitos soldados sarracenos se reuniram para ter a satisfação de observar. Um grupo de sufistas vindos do Cairo tinha seguido o exército de Saladino, visto estarem convencidos, esses eruditos, de que seria possível converter os cristãos à verdadeira fé. Como brincadeira cruel, alguns dos emires tiveram a idéia de deixar esses sufistas fazerem uma tentativa com os monges combatentes templários e hospitalários.
Por isso, esses homens de fé, não totalmente felizes, tiveram permissão para ir de templário a hospitalário, perguntando se ele estaria preparado para abjurar a falsa fé cristã e abraçar a fé islâmica, contra ter a sua vida poupada. A cada tentativa, ao receber um não, e foi essa a resposta que receberam o tempo todo, eles tinham que tentar realizar a decapitação. Isso ocasionou muitos momentos de diversão entre os espectadores, visto que nem sempre as decapitações eram realizadas do jeito certo. Ao contrário, os sufistas eruditos, defensores da verdadeira fé, tiveram muitas vezes de desferir vários golpes para completar a ação. Quando alguma das decapitações era bem-feita, os espectadores rompiam em grandes aplausos. Caso contrário, riam muito e faziam ouvir seus comentários de divertida insatisfação e muitos conselhos.
Tendo bebido sua água, Arn se reanimou o suficiente para conseguir entender o que estava acontecendo. Mas seu rosto estava cheio de sangue e só podia ver por um dos olhos, de modo que tinha dificuldade em observar realmente o que acontecia mais abaixo, no fim da fila.
No entanto, ele não estava muito interessado no que acontecia. Antes, rezava e se preparava para entregar a alma a Deus. E perguntava a Deus com todas as forças que podia mobilizar dentro de si, qual teria sido a Sua intenção. Porque esse era o dia 4 de julho de 1187. Justo o dia em que ele, vinte anos atrás, havia feito o juramento pelos templários. E, portanto, ao sol se pôr naquele dia, ele estaria livre desse juramento. Qual seria a intenção de Deus em deixá-lo viver até a última hora de serviço e, depois, arrancar sua vida? E por que o tinha deixado viver justo até aquele dia em que a cristandade havia sucumbido na Terra Santa?
Refletindo melhor, achou que estava sendo egoísta. Não estava sozinho a morrer e os últimos momentos de vida podiam ser utilizados melhor do que ficar reclamando de Deus. E ao verificar que estava pronto para morrer, passou a rezar por Cecília e pela criança que em breve iria ficar órfã.
Quando o grupo suado e perturbado de sufistas eruditos chegou até Arn, eles lhe perguntaram se ele estava preparado para abjurar sua falsa fé e passar para a verdadeira fé, salvando com isso a sua vida. Pela sua maneira de perguntar, não parecia estarem muito convencidos da sua conversão nem teriam a certeza de ele ter entendido tudo.
Mas, apesar disso, Arn levantou a cabeça e respondeu na própria língua do Profeta, que a paz esteja com Ele:
— Em nome da Clemência e da Misericórdia, ouçam as palavras do vosso próprio sagrado Alcorão, a terceira surata do qüinquagésimo quinto verso — começou ele dizendo. E respirou fundo como que para ganhar força para continuar, ao mesmo tempo que os homens à sua volta ficavam espantados e em silêncio.
— E de quando Deus disse — continuou ele, com a voz vacilante —: Ó Jesus, por certo que porei termo à tua estada na terra; ascender-te-ei até Mim e salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles teus prosélitos até o Dia da Ressurreição. Então, a Mim será o vosso retorno e eis que dirimirei vossas divergências.
Arn fechou os olhos e inclinou-se para a frente à espera do golpe. Mas os sufistas à sua volta como que ficaram paralisados ao ouvir de um dos seus piores inimigos as palavras do próprio Deus. Ao mesmo tempo, chegou avançando e esbracejando um eminente emir e gritando ter encontrado Al Ghouti.
Ainda que ninguém pudesse mais reconhecer Arn, dados os seus enormes ferimentos no rosto, todos sabiam que havia apenas um inimigo conhecido por ser capaz de exprimir as palavras do próprio Deus de forma tão pura e clara.
E Saladino tinha dito para todos, com a maior ênfase, que se Al Ghouti fosse encontrado ainda com vida, ele, sob nenhum pretexto, devia ser maltratado. Antes, devia ser tido como convidado de honra.
Quando o sol desceu no horizonte no último dia dos vinte anos de sua penitência, Cecília Rosa estava sentada perto de um dos açudes de peixes de Riseberga, completamente sozinha. Era uma noite quente e sem vento, em meados de agosto, quando o verão estava a caminho de passar seu ponto alto e a colheita do feno iria começar lá para o sul, na Götaland Ocidental, mas ainda não ali, mais ao norte, em Nordanskog.
Tinha comparecido a duas missas e feito a comunhão, enlevada no pensamento de que ela, nesse dia, com o apoio de Nossa Senhora, havia passado um período de tempo que, ao ser condenada, lhe tinha parecido uma vida inteira. Finalmente, estava livre.
Mas não ainda. Isso porque na hora da liberdade foi como se nada mudasse, nem houvesse nenhum sinal de mudança. Tudo continuava como habitualmente, como qualquer outro dia de verão.
Certamente, como imaginou em suas expectativas infantis, achou que Arn, cuja hora de liberdade talvez tivesse coincidido com a dela, viesse cavalgando, de imediato, na sua direção e aparecesse de repente, quando, na realidade, teria ainda uma longa viagem diante de si. Quem sabia, dizia que podia levar um ano para viajar para ou de Jerusalém.
Talvez ela tivesse, também, repudiado todos os pensamentos a respeito desse futuro momento de felicidade suspeitando lá bem dentro de si que tudo ia ficar como estava e nada ia acontecer de especial. Ela tinha agora trinta e sete anos de idade e nada possuía a não ser a roupa do corpo. E, pelo que sabia, o seu pai estava em casa, em Husaby, doente, sem dinheiro, e em matéria de receitas totalmente dependente dos folkeanos, em Arnäs. Para ele, não seria nenhuma alegria se ela voltasse e pedisse para ser sustentada.
Em Arnäs, não tinha nada a fazer. A dona da casa era a sua irmã Katarina e tinha sido por causa dela que Cecília Rosa acabou sofrendo a penitência de vinte anos fechada no convento. Por isso, um encontro entre as duas não seria conveniente nem para Cecília nem para Katarina.
Podia viajar para Nas, na ilha de Visingsõ, e ser hóspede de Cecília Blanka e podia sentir-se bem-vinda, também, por algum tempo em Ulfshem, em casa de Ulvhilde. Mas uma coisa era os amigos se visitarem reciprocamente com maior ou menor freqüência. Outra era chegar como pessoa sem teto.
De repente, teve uma idéia e retirou da cabeça o véu que se habituara a usar durante vinte anos, de tal maneira que se sentia como se não tivesse cabelo. E o soltou, então, passando os dedos pelos cachos, por momentos, deixando-o livre. Segundo o regulamento, estava longo demais. Tinha evitado os dois últimos dos seis cortes anuais de cabelo que eram de praxe.
Inclinou-se para a frente na tentativa de se ver no espelho de água. Mas já era tarde demais, estava escuro, e ela pôde ver apenas a silhueta do rosto e do cabelo ruivo. E o que ela viu era muito mais a recordação da sua imagem na juventude do que a realidade do momento. Espelhos era o que não havia em Riseberga, aliás, nem em nenhum outro convento.
Passou a palma das mãos pelo corpo, tal como qualquer mulher livre tinha o direito de fazer. Tentou até mexer nos seus seios e ancas, já que isso, a partir daquele fim de tarde, não mais poderia ser considerado como uma quebra do regulamento. Mas o toque do seu corpo não lhe disse muito. Tinha trinta e sete anos e era livre, mas ainda assim não livre. Isso era a única coisa que podia dizer com toda a certeza.
Após uma reflexão mais profunda, até mesmo a liberdade envolvia cercas e muros. Birger Brosa havia decidido que ela continuaria como yconoma de Riseberga pelo tempo que ela quisesse e quando ele disse isso parecia ser uma amabilidade sem significado. Mas agora, na primeira hora de liberdade, em que ela tentou examinar o que essa amabilidade envolvia, parecia mais que ela apenas iria continuar a trabalhar do mesmo jeito como tinha trabalhado nos últimos anos.
Não, não exatamente do mesmo jeito. Ela decidiu que não ia usar mais o véu cobrindo o seu cabelo e que não precisaria cantar nem participar das laudes ou das matutinas, nem do completorium. Dessa maneira, iria ter muito mais tempo valioso para trabalhar. E a partir daquele momento ela mesma podera viajar para os mercados e fazer compras. E isso pareceu a ela, de repente, que seria a maior das mudanças. Teria o direito de se misturar com as outras pessoas e de falar com quem quisesse. E não poderia mais ser acusada de pecado e punida.
Acima de tudo, queria viajar para Bjálbo para se encontrar com o filho, Magnus. Mas esse era um encontro pelo qual ela ansiava e do qual, ao mesmo tempo, tinha receio.
Tal como muita gente via o caso, mas, acima de tudo, como a Igreja via o caso, Magnus tinha nascido no pecado e na vergonha. Birger Brosa recebeu-o como infant in arms, chamou-o para a liderança da família no conselho e educou-o entre os seus próprios filhos, seus e de sua mulher, Brigida. Ainda pequeno, Magnus achou que era filho de Birger Brosa. Mas muitas línguas de trapo conheciam a situação dele e soltavam rumores que acabaram chegando aos ouvidos de Magnus, primeiro como indicações disfarçadas, mais tarde de forma menos velada, por alguém sob sentimento de raiva.
Justo no limite entre a adolescência e a maioridade, Magnus começou a suspeitar da verdade e, então, puxou Birger Brosa para um lado e exigiu saber a verdade. Birger Brosa não considerou outra hipótese melhor do que, de imediato e sem rodeios, lhe contar tudo. Durante algum tempo, Magnus portou-se como um eremita, mostrando-se como um rapaz triste e de poucas palavras, como se a sua vida segura como filho do conde se tivesse desfeito em cacos. Durante esse tempo, Birger Brosa determinou que o garoto devia ser deixado em paz, achando que dentro de pouco tempo tudo mudaria, com a curiosidade tomando o lugar da decepção.
E assim aconteceu. Depois de um tempo, ele procurou o seu pai de criação, começando a fazer as primeiras perguntas a respeito de quem era Arn Magnusson. Tal como Birger Brosa contou mais tarde para Cecília Rosa, ele acabou dourando a pílula um pouco demais, dizendo que Arn era o melhor espadachim da Götaland Ocidental de todos os tempos e, com certeza, um arqueiro contra quem muito poucos podiam medir forças. Uma mentira total com certeza não era, desculpou-se Birger Brosa. Ainda vivia a lembrança de como o jovem Arn, pouco mais do que um garoto, tinha vencido o lutador sverkeria-no Emund Ulfsbane, durante a reunião de todos os gotas, em Axevalla. Foi como na história contada nas Sagradas Escrituras, da luta entre Davi e Golias, mas não exatamente, porque Arn se mostrou muito melhor com a espada do que Emund, que perdeu a mão em vez da vida, só porque o jovem Arn o soube poupar.
Assim que Magnus se sentiu livre para perguntar aos parentes mais velhos sobre esse acontecimento, ele encontrou muitos que, como era de esperar, tinham estado ou pensavam ter estado presentes em Axevalla, mas mesmo assim podiam contar a história sem muitos detalhes.
Como o jovem Magnus já na infância se tinha mostrado um arqueiro muito melhor do que os outros garotos, ele pôde entender, então, qual era a explicação para isso. Que seu pai era um arqueiro incomparável, e que ele tinha começado a treinar muito mais do que seria exigido, negligenciando então outras partes da sua educação. Também falou com seu tio, Birger Brosa, decidindo que se seu pai não voltasse com vida da Terra Santa, ele não iria adotar o nome de Birgersson, segundo Birger Brosa, mas também não Arnsson. Ele queria chamar-se Magnus Mâneskõld, chegando ele mesmo a pintar uma pequena meia-lua em prata por cima do leão folkeano no seu escudo.
Birger Brosa achou que como já tinha passado muito tempo, era melhor que mãe e filho não se encontrassem antes de Cecília Rosa cumprir a sua penitência. Era melhor para os seus sentidos que o garoto visse a sua mãe como mulher livre do que como noviça ainda com penitência a pagar. Contra essa proposta, Cecília Rosa nada teve a reclamar. Mas agora o momento tinha chegado. Estava livre e tinha cumprido toda a sua penitência. E, no entanto, receava esse encontro mais do que tinha pensado. Começou a se preocupar com coisas que antes não lhe tocavam, como ser velha e feia ou as suas roupas serem simples demais. Se o jovem Magnus tinha tão grandes sonhos a respeito de seu pai, maior era o risco de ele ficar decepcionado ao ver a sua mãe.
Quando as outras mulheres em Riseberga, seis freiras, três noviças e oito conversae, foram para o completorium naquela noite, Cecília Rosa seguiu para a sala de contabilidade. A primeira hora de liberdade começava com trabalho.
Naquele outono, Cecília Rosa equipou uma carroça que ela própria iria conduzir até Gudhem para comprar todo o tipo de plantas, as úteis e as bonitas, que só podiam viajar no outono para não morrer no — caminho. E também muitas coisas que eram necessárias para costurar e tingir tecidos. Tudo isso há muito tempo que era produzido em Gudhem, enquanto Riseberga, mais ao norte, em Nordanskog, ainda estava começando. Como Cecília Rosa iria levar uma boa quantidade de prata para fazer os pagamentos, Birger Brosa montou um esquema em que ela teria o acompanhamento de cavaleiros armados até o lago Vättern, de marinheiros noruegueses, sobre as águas, e de cavaleiros folkeanos entre o Vättern e Gudhem.
Cecília seguiu montada a cavalo. Como tinha sido uma boa cavaleira aos dezessete anos, não levou muito tempo, embora com um pouco de dores no corpo, para voltar ao seu antigo desembaraço em cima do cavalo.
Ao se aproximar de Gudhem, à frente da sua comitiva, insistindo em cavalgar, visto que era yconoma e estava habituada a decidir e os cavaleiros armados eram apenas seu séquito, Cecília Rosa se espantou diante do fato de seus sentimentos estarem confusos. Gudhem estava localizada num lugar muito bonito, constituindo uma visão agradável até mesmo a distância. Mesmo em pleno outono havia muitas roseiras ainda floridas ao longo dos muros, daquelas que ela ia tentar comprar, entre outras coisas, para tornar Riseberga também mais bonita.
Não havia no mundo um lugar que ela odiasse mais do que Gudhem. Isso, sem dúvida, era verdade. Mas que diferença notável era se aproximar do reino de madre Rikissa como uma pessoa livre, em vez de subjugada pela abadessa.
Cecília Rosa esclareceu enfaticamente que viera apenas para negócios e apenas para fazer o melhor por Riseberga. Não havia razão nenhuma para procurar briga com a madre Rikissa ou para tentar mostrar para ela que o seu poder estava quebrado. Na derradeira parte do caminho, antes de chegar a Gudhem, Cecília Rosa ficou imaginando como devia se comportar agora perante Rikissa como duas iguais quaisquer, a abadessa de Gudhem e a yconoma de Riseberga, esta, vindo para fazer negócios em níveis razoáveis e nada mais. No entanto, Cecília sorriu ao pensar como era fraco o entendimento da madre Rikissa quando se tratava de negócios.
Mas das expectativas dela a respeito do encontro não restou nada. A madre Rikissa estava às portas da morte e o bispo Õrjan, de Vãxjõ, tinha sido chamado para receber a confissão dela e lhe administrar os últimos sacramentos.
Diante dessa informação, Cecília Rosa chegou a pensar em apenas voltar para trás, mas como a viagem era longa e difícil, e a vida, tanto em Gudhem como em Riseberga, tinha que continuar, até mesmo depois de todos que agora viviam terem morrido, ela resolveu ficar, procurando alojamento na hospedaria, onde ela e a sua companhia foram recebidos como se fossem quaisquer viajantes.
Pouco depois de anoitecer, Cecília foi procurada por aquele que para ela era um bispo desconhecido. Este lhe pediu para o seguir e entrar no convento, a fim de se encontrar pela última vez com a madre Rikissa. Ela mesma tinha solicitado esse derradeiro favor.
Recusar o último desejo de alguém tão próximo da morte, quando esse desejo era tão fácil de satisfazer, seria, evidentemente, uma coisa impensável. Contrariada, Cecília Rosa seguiu o bispo Õrjan até o leito de morte de madre Rikissa. Sua contrariedade não estava relacionada com a morte, que ela tinha visto muitas vezes no convento. Muitas senhoras de idade chegavam para passar os seus últimos dias de vida e depois morrer. Sua contrariedade dizia respeito aos sentimentos que ela receava ver no seu coração diante da morte da madre Rikissa. Triunfar na hora da morte do seu próximo seria um pecado de perdão muito difícil. Mas que outros sentimentos se podia ter, realmente, diante de uma pessoa que era pura maldade?
Com o bispo lamentando e rezando ao seu lado, Cecília Rosa entrou no quarto interno dos aposentos particulares da madre Rikissa. Esta jazia na sua cama, com lençol e cobertores puxados até o pescoço e com uma vela acesa de cada lado da cabeceira. Estava muito pálida como se a morte, com as mãos frias, já estivesse apertando o seu coração. Os olhos dela estavam meio fechados.
Cecília Rosa e o bispo se ajoelharam de imediato perto da cama, fazendo as suas preces como o momento exigia. Terminadas as preces, a madre Rikissa abriu um pouco os olhos e, de repente, retirou de baixo da coberta a sua mão, que parecia uma garra, e a fixou no pescoço de Cecília, com uma força que, de forma alguma, podia pertencer a uma pessoa quase morta.
— Cecília Rosa, Deus chamou você aqui neste momento para que tenha tempo para me perdoar — sibilou ela, ao mesmo tempo que a sua garra muito forte afrouxava um pouco o pescoço de Cecília.
Por um curto momento, Cecília Rosa sentiu aquele medo gelado de antigamente que ela sempre ligava àquela mulher malvada. Mas, depois, recompôs-se e retirou sem ser indelicada a mão da madre Rikissa do seu pescoço.
— O que é que a senhora quer que eu perdoe, madre? — perguntou ela, sem que, pelo tom da sua voz, denunciasse qual era a disposição da sua mente, em um ou outro sentido.
— Os meus pecados e, em especial, os meus pecados contra você — murmurou a madre Rikissa como se ela, de repente, tivesse perdido a força surpreendente.
— Como quando me puniu com chicotadas por pecados que a senhora sabia que eu não tinha cometido? Você confessou essas mal-dades? — perguntou Cecília Rosa, friamente.
— Sim, eu confessei esses pecados ao bispo õrjan que está ao seu lado — respondeu a madre Rikissa.
— E quando a senhora tentou me matar, ao me manter no cárcere no pico do inverno com apenas um cobertor, a senhora também confessou isso? — perguntou ainda Cecília Rosa.
— Sim, eu... confessei isso, também — respondeu a madre Rikissa, mas, então, Cecília Rosa não pôde deixar de notar como o bispo Õrjan, ainda de joelhos ao seu lado, fez um movimento de apreensão. Rápido, ela olhou para ele e não deixou de notar a sua surpresa.
— Você não vai mentir para mim no seu próprio leito de morte, depois de se ter confessado e recebido os últimos sacramentos, madre Rikissa? — perguntou Cecília Rosa, em tom suave, mas dura como o ferro dentro de si. Nos olhos vermelhos da madre Rikissa, ela viu de novo as pupilas oblíquas de um bode.
— Eu confessei tudo aquilo que você me perguntou. Agora, quero o seu perdão e as suas preces antes da minha longa viagem, já que os meus pecados não são poucos — sussurrou a madre Rikissa.
— Você confessou que também tentou matar Cecília Blanka, mandando-a para o cárcere durante os meses mais difíceis do inverno? — perguntou ainda Cecília Rosa, implacavelmente.
— Você está me torturando... Mostre clemência no meu leito de morte — falou, vacilante, a madre Rikissa, mas de maneira que deu a Cecília Rosa a impressão de que era tudo palhaçada.
— Você confessou ou não confessou ter tentado tirar a minha vida e a de Cecília Blanka no cárcere? — insistiu ainda Cecília Rosa, sem a menor intenção de ceder. — Eu, pequena pecadora, não posso perdoar aqueles pecados que não sei se já foram confessados, isso você entende, não, madre Rikissa?
— Sim, eu confessei esses pecados todos para o bispo õrjan — voltou a responder a madre Rikissa, embora desta vez sem vacilar e sussurrar, mas, sim, com alguma impaciência na voz.
— Então, estamos mal, madre — disse Cecília Rosa, friamente. — Ou você está mentindo para mim ao dizer que confessou isso para o bispo õrjan. E, então, eu não lhe posso perdoar. Ou você, realmente, confessou esses pecados mortais, pois, pecado mortal é tentar tirar a vida de um cristão, pior ainda se a pessoa como você está a serviço da Mãe de Deus. Se você confessou esses pecados" mortais para o bispo õrjan, então, este não lhe poderia ter perdoado. E quem sou eu, por último, pobre pecadora em penitência sob o seu chicote durante muitos anos, para lhe perdoar, se nem o bispo nem Deus puderam lhe perdoar?
Cecília Rosa levantou-se rápido após as suas últimas palavras como se pressentisse o que ia acontecer. A madre Rikissa virou-se rápido na cama e esticou de novo suas mãos na direção de Cecília Rosa como se quisesse tentar agarrá-la novamente pelo pescoço. Com isso, a coberta caiu e um terrível mau cheiro se espalhou pelo quarto.
— Eu amaldiçôo você, Cecília Rosa! — gritou a madre Rikissa, com uma força repentina que, momentos antes, seria impensável nela. Seus olhos estavam agora arregalados e Cecília Rosa julgou ver, nitidamente, as pupilas oblíquas de um bode. — Eu amaldiçôo você e aquela vagabunda, mentirosa, da sua amiga, Cecília Blanka. Que as duas venham a arder no inferno e que sofram as dores da guerra por seus pecados e que seus parentes morram também no fogo que virá!
Com essas palavras, a madre Rikissa caiu como se tivesse perdido todas as forças. Seus cabelos negros que tinham começado a embranquecer rolaram um pouco para o lado, ficando debaixo do rosto. De um dos cantos da boca, correu um pequeno fio de sangue de aparência muito escura.
O bispo Õrjan pegou, então, Cecília Rosa cautelosamente pelos ombros e levou-a para a saída, fechando a porta em seguida, como se ele achasse necessário trocar mais algumas palavras com a doente, antes que fosse tarde demais para se arrepender e para se confessar.
A madre Rikissa morreu naquela noite. No dia seguinte, foi enterrada embaixo das pedras do claustro e o seu sigilo de abadessa foi quebrado e colocado ao seu lado na campa. Cecília Rosa compareceu ao funeral, embora a contragosto. Achou, no entanto, que não tinha outra escolha. Um dos lados da questão era que ela não achava razoável ser obrigada a rezar pela maldita e simular tristeza diante dos demais. Algo menos significativo do que murmurar orações para uma pecadora renitente que mentiu sob confissão no seu próprio leito de morte, ela não podia nem imaginar.
O outro lado da questão tinha mais a ver com a vida secular. Quem esse bispo de Vãxjõ era, ela não fazia a menor idéia. Nem sabia que havia um bispo em Vãxjõ. Mas para esse bispo, desconhecido e insignificante, ter sido chamado para o leito de morte da madre Rikissa não podia ter acontecido sem uma razão. Antes de mais nada, devia pertencer à família sverkeriana, talvez aparentado com a madre Rikissa. Segundo, tinha conhecimento da última vontade da madre em vida, a que, certamente, não faltava importância. As últimas palavras da madre Rikissa antes de morrer, ouvidas por Cecília Rosa, foram uma ameaça, de que todos iriam morrer no fogo e na guerra. O que ela quis dizer com isso, só o bispo Õrjan sabia. Sensato seria pois ficar por perto desse tal bispo örjan, enquanto fosse possível, para poder entender, talvez, qual o segredo que ele estava guardando.
Havia uma razão mais forte para ficar para o funeral. Cecília Rosa e os seus cada vez mais impacientes acompanhantes tinham vindo de longe para fazer negócios. Era melhor que essas compras fossem feitas logo, para evitar ter de voltar na primavera.
O bispo örjan era um homem alto, com um pescoço de garça e uma laringe malformada. Gaguejava um pouco ao falar. Que ele não era uma cabeça brilhante, Cecília Rosa logo descobriu, mas se repreendeu pelo seu apressado julgamento, já que o aspecto externo de qualquer pessoa podia não corresponder ao seu interior.
Entretanto, o seu julgamento apressado não deixou de ter razão, pois, no momento em que, inocentemente, sugeriu ao bispo que ela e alguns dos seus acompanhantes, junto com ele e alguns dos seus acompanhantes, fizessem uma recepção depois do funeral na hospedaria, antes de se separarem, ele aceitou rápido como uma flecha, dizendo achar que era uma proposta muito boa.
Sendo a única mulher na hospedaria, é claro que foi ela que acompanhou o bispo pelo braço até a mesa e é claro que o bispo começou a ficar mais falante à medida que bebia. De início, reclamou um pouco do fato de ele, sendo da família sverkeriana, ter sido mandado apenas para assumir o novo bispado de Växjõ, visto que, agora, todas as novas indicações de maior importância dentro da Igreja iam para os familiares folkeanos e erikianos, ou ainda para aqueles que, de um jeito ou de outro, eram amigos deles.
Com isso, Cecília Rosa recebeu a primeira informação de importância.
Não demorou muito e já o bispo, preocupado, perguntava a Cecília Rosa, que, pelo que ele sabia, tivera um relacionamento muito estreito com a rainha Cecília Blanka durante o tempo em que ambas estiveram em Gudhem, se ela sabia exatamente quando Cecília Blanka havia feito os seus votos para a madre Rikissa.
Com isso, Cecília Rosa recebeu a segunda informação importante, que, desta feita, fez seu sangue gelar.
Fingiu, no entanto, que nada tinha mudado, tentando beber um pouco mais de cerveja e rindo à socapa, antes de responder, mas depois disse claramente que, na verdade, Cecília Blanka jamais tinha realizado quaisquer votos, promessas ou juramentos perante a Igreja. Ao contrário, as duas tinham prometido uma à outra jamais fazê-los e as duas viviam como grandes amigas durante todos aqueles anos em Gudhem.
O bispo örjan ficou, então, pensativo, em silêncio, durante alguns momentos. Depois, afirmou que, evidentemente, nada podia revelar do que fora dito para ele em confissão, mas sem dúvida podia revelar o que estava escrito no testamento da madre Rikissa e que ele havia prometido diante de Deus mandar para o Santo Padre em Roma. E no testamento estava escrito que a rainha Cecília Blanka havia feito votos em Gudhem.
Mais para esconder o medo que se apossou dela, Cecília Rosa resolveu servir ao bispo örjan mais cerveja, enquanto pensava. E ele bebeu a cerveja, direto, sem pestanejar.
Ela tinha acabado de receber sua terceira informação importante.
Esse testamento não devia ser mandado primeiro para o arcebispo o mais depressa possível, perguntou ela, o mais inocentemente que foi capaz.
Não devia, não. Por duas razões. A primeira era que o segundo arcebispo do país, Jon, tinha sido assassinado recentemente em Sigtuna, quando as gentes do outro lado do mar Báltico vieram saquear a cidade. Por isso, no momento não havia nenhum arcebispo. E como o testamento da madre Rikissa precisava ir para Roma, seria, portanto, desnecessário mandá-lo para trás, para Aros Oriental e, além disso, ficar lá esperando por um novo arcebispo que, certamente, seria algum folkeano, murmurou o bispo örjan, mal-humorado. Por isso, ele estava pensando em honrar o seu juramento diante da doente terminal, a abadessa Rikissa, viajando para o sul e entregando o testamento a seu amigo dinamarquês, o bispo Absalon, em Lund.
Com isso, Cecília Rosa recebeu a sua quarta informação importante. E voltou a despejar mais cerveja no caneco do bispo, rindo novamente, divertida, quando ele pousou a mão na sua coxa, ainda que, no íntimo, tenha se revirado toda.
Como Cecília Rosa achou que, naquele momento, já sabia tudo o que precisava saber e nada mais de importante havia a descobrir, partiu para fazer o que, por antecipação, sabia ser irrealizável, ou seja, falar de bom senso para o idiota do bispo.
Salientou, antes de mais nada, cautelosamente, que Cecília Blanka e ela haviam passado mais de seis anos juntas em Gudhem como grandes amigas, muito próximas. Que uma delas tivesse dado um passo tão importante como o de juramentar as alegadas promessas, sem falar disso para a outra, era muito difícil de aceitar.
A isso o bispo respondeu, fazendo um esforço visível para se mostrar digno e severo no meio da bebedeira, que as promessas feitas por qualquer pessoa diante de Deus, assim como tudo o que qualquer pessoa dissesse no confessionário, estavam veladas para sempre ao conhecimento secular.
Cecília Rosa objetou, então, com artificial preocupação, que o mui digno bispo talvez não soubesse do que se passava num convento. Mas, na verdade, uma vez feitas as ditas promessas, a pessoa era considerada a partir daquele momento, imediatamente, como noviça e, obrigatoriamente, tinha de passar por um ano de teste, sendo afastada logo de todas as familiares e conversae. Se Cecília Blanka tivesse realmente feito esses votos, isso teria sido notado, se não de outra maneira, por isso mesmo, certo?
Nessa altura, o bispo encolheu os ombros e reagiu, dizendo generalidades, que muita coisa só podia ser vista por Deus e que só Ele podia penetrar na alma das pessoas.
Como Cecília Rosa nada tinha a objetar contra essas considerações, tentou rápido mudar de rumo. Que tinha compreendido através das próprias palavras da madre Rikissa que ela tinha deixado de revelar em confissão todos os seus pecados mortais horas antes de deixar esta vida. Quem mentiu nessa situação não podia ser digna de crédito como pessoa veraz ao se tratar de uma afirmação tão impossível quanto essa de a rainha ter feito votos no convento e, depois, ter dado à luz quatro crianças em situação de pecado, certo? Porque é disso mesmo que se trata, não é?
Sim, claro, era naturalmente aí que estava a coisa... O bispo örjan concordou no meio de um bocejo, mas logo também resolveu mudar de rumo. A questão estava relacionada, sim, com o próprio pecado, explicou ele, apressadamente. O pecado era decisivo. Que esse pecado, depois, tivesse certas conseqüências para a coroa do reino, isso não devia entrar em consideração, mas talvez Cecília Rosa quisesse acompanhá-lo até a Dinamarca? Havia, sem dúvida, muitas conversas a respeito de os bispos não poderem mais se casar diante de Deus, mas existiam soluções simples para esse problema. Estava com dinheiro em caixa nesse momento, confidenciou o bispo, ingenuamente. Portanto, por que não?
Cecília Rosa tinha recebido todas as informações de que precisava, mas para isso se sentia também manchada e suja, como se ao bispo agradasse jogar sujeira sobre ela.
Por isso, pediu desculpas, dizendo que por razões femininas que não podia revelar, tinha que se retirar. Ele ainda tentou agarrá-la em desequilíbrio, mas ela se esgueirou rápido, já que estava muito menos bêbeda do que ele.
No entanto, ao entrar em contato com o ar fresco, Cecília vomitou. E naquela noite rezou sem conseguir dormir por seus pecados serem muitos. Tinha seduzido um bispo. Tinha deixado que ele a apalpasse pecaminosamente para o enganar e o levar a dizer o que ele não queria.
Sentia vergonha de tudo isso, mas mais vergonha ainda por ver que a ação pouco digna do homem ao apalpá-la tinha acendido nela um desejo que permanentemente tinha tentado afastar. Ele tinha conseguido que ela voltasse a ver diante de si a imagem de Arn Magnusson cavalgando. Como seu amor puro pôde ser inflamado por um homem ruim como o bispo, segundo podia ver no momento, era um pecado quase imperdoável.
Entretanto, a segunda coisa que ela tinha a fazer em Gudhem e que a tinha obrigado a ficar para o funeral da malvada mulher, felizmente, correu de maneira muito mais fácil. Rapidamente, conseguiu comprar todas as plantas e todos os fios para costurar de que precisava, encomenda de uma priora mal informada que sem os seus conselhos amigos teria sido grosseiramente enganada nesses negócios. Gudhem, agora, era de novo a casa da Virgem Maria. E diante disso, todos deviam passar a respeitá-la de novo.
Mas Cecília Rosa também pensava que se tivesse ficado em Gudhem, agora, teria que ter muito cuidado onde pôr os pés no claustro. A madre Rikissa não estava no Paraíso. Talvez estivesse lá embaixo da pedra com os seus olhos vermelhos, cheios de maldade, brilhando, pronta para se levantar como uma loba e engolir quem ela odiasse, já que o ódio foi a força mais potente que a orientou em vida.
A caminho de Riseberga, Cecília Rosa tinha combinado parar alguns dias em Nas, com Cecília Blanka. Mas quando chegou ao porto real no lago Vättern e seus impacientes acompanhantes, murmurando e bufando, descarregaram as suas coisas de que eles não entendiam muito, para junto do ameaçador barco negro, ela empalideceu, o que foi notado por todos. Ao largo, no Vättern, estavam em formação ondas altas, com frisos de espuma. iTprimeira tempestade do outono estava a caminho.
Preocupada, ela foi perguntando entre os homens rudes da marinhagem que pareciam noruegueses, até chegar em frente daquele que, pelo visto, era quem estava no comando. Ele a saudou com todo o respeito e disse chamar-se Styrbjorn Haraldsson e que seria um prazer para ele poder levar de barco a amiga da rainha, imediatamente, para Nas. Cecília Rosa, entretanto, perguntou angustiada se seria aconselhável fazer-se ao mar naquela tempestade. Ele sorriu pensativo, abanou a cabeça e respondeu algo como se esse tipo de perguntas fizesse com que sentisse saudades de voltar para casa, mas que a fidelidade ao rei Knut, infelizmente, estava no caminho. Depois, pegou a mão dela sem dizer nada mais e conduziu-a até o cais onde os seus homens esperavam para entrar a bordo e partir. Botaram uma prancha larga entre o cais e o barco para Cecília Rosa embarcar e jogaram, com braços fortes, as coisas compradas em Gudhem para o fundo do barco. Em seguida, pegaram os remos, desatracaram e lá mais ao largo içaram a vela.
O vento enfunou de imediato a vela retangular, por completo, e, no momento seguinte, empurrava o barco para a frente, de tal maneira que Cecília Rosa, que ainda não tinha se sentado, foi jogada para trás, nos braços de Styrbjorn. Este puxou-a para baixo, para o lugar ao lado do seu, perto do remo que servia de leme, e envolveu-a com cobertores grossos e mantas de pele de carneiro. Só a ponta do nariz dela ficou de fora.
A tempestade rugia à volta deles e as ondas lavavam a amurada. O barco se inclinava de tal maneira que Cecília Rosa apenas via o céu escuro de um lado e achava ver, diretamente embaixo, o mar também escuro, agitado, ameaçador, do outro lado. Ficou sentada, rígida, cheia de medo, até que resolveu tentar ser razoável.
Nenhum daqueles homens, altos e estranhos, parecia preocupado. Sentaram-se, satisfeitos, de costas contra o lado do barco levantado para o céu e pareciam gracejar, à medida que era possível ouvir. Deviam saber o que estavam fazendo, raciocinava ela, sentindo câimbras. Ao se recostar um pouco contra o homem que se chamava Styrbjorn, ela viu que os cabelos longos dele voavam com o vento, suas pernas estavam bem afastadas, e ele, seguro, com um largo sorriso resplandecente por todo o seu rosto com barba, parecia gostar de velejar.
Mas ela não pôde deixar de gritar uma pergunta para ele, se não era perigoso se lançar ao mar no meio de uma tempestade e se, realmente, estavam certos de que havia a mão protetora de alguém sobre todos eles. Ela teve que repetir a pergunta duas vezes, gritando, embora Styrbjorn tivesse se inclinado, delicadamente, para ela, a fim de escutar as suas preocupações.
Ao entender, finalmente, qual era a pergunta, Styrbjom jogou o corpo para trás, soltando uma gargalhada bem sonora e deixando que a tempestade tomasse conta novamente dos seus cabelos longos, lançando-os sobre a cabeça e o rosto dele. Depois, voltou a se inclinar na direção dela e gritou que pior tinha sido antes, durante o dia, quando eles tiveram que remar contra o vento para chegar a tempo no porto. Agora, estavam seguindo a favor do vento, e era como se fosse uma dança. Aliás, deviam chegar dentro de meia hora, não mais do que isso.
E assim aconteceu. Cecília Rosa viu o forte de Nas se aproximar com uma velocidade estonteante, e de uma vez levantaram-se todos os noruegueses como se fossem um homem só.
E sentaram-se aos remos, enquanto Styrbjorn recolhia a vela.
Os homens do lado esquerdo foram os primeiros a lançar os remos à água e remaram para trás, enquanto os homens do outro lado apoiavam os pés e remavam para a frente. Era como se uma mão gigantesca jogasse o barco inteiro contra o vento. Depois, bastou mais uma dezena de remadas para chegar a uma enseada protegida e logo a quilha do barco estava entrando na areia da praia. A competência daqueles homens, que Cecília Rosa não podia deixar de entender, fez com que se envergonhasse das suas exageradas preocupações no início da viagem.
Na trilha, a caminho do castelo, enquanto Styrbjorn, respeitosamente, a conduzia à frente de todos, ela, com umas palavras um pouco rebuscadas, pediu também desculpas pelas suas preocupações, para as quais não havia, realmente, qualquer motivo.
Styrbjorn apenas sorriu amistosamente perante essas desculpas desnecessárias, assegurando que ela, certamente, não era a única senhora da Götaland Ocidental que pouco sabia a respeito do mar e de barcos. Uma vez, contou ele, uma jovem senhora perguntou se havia a possibilidade de a gente se perder no caminho, ao velejar mar adentro. E, ao contar isso, Styrbjorn soltou uma grande gargalhada, enquanto Cecília Rosa sorriu cautelosamente para ele, insegura a respeito do que, na realidade, havia de tão divertido na preocupação da senhora.
Logo depois, chegou Cecília Blanka para receber a sua amiga mais querida e isso ela repetiu várias vezes na frente de quem quisesse ouvir. Estava tão alegre e satisfeita que as suas palavras pareciam o canto da cotovia diante da chegada da primavera. E não dava para parar. Logo chamou gente para levar os sacos de couro de Cecília Rosa, com plantas espinhosas, peles e material de costura, enquanto pegava a amiga pelo braço e a levava por várias salas tristes até chegar a um salão com lareira onde foi servido um vinho quente. Era o melhor para servir depois de uma viagem fria pelo mar.
Ao mesmo tempo que Cecília Rosa sentia o calor da amizade de sua amiga e a alegria de tudo estar correndo bem, ela pressentia aquela dorzinha de ver a maldade se aproximar para complicar a situação.
Mas não seria fácil derrubar Cecília Blanka. O rei e o conde estavam, justamente, em Aros Oriental a fim de arranjar um novo bispo, visto que os salteadores do outro lado do Báltico haviam espancado e morto o antigo. Além disso, os orientais tinha posto fogo em toda a cidade de Sigtuna. Portanto, os homens tinham muita coisa a fazer, novas cruzadas, a construção de navios que lhes competiam. A vantagem, no entanto, era ter Nas por sua conta. Na falta do rei e do conde, a rainha era quem decidia tudo. Era preparar-se, portanto, para conversar a noite inteira e ficar bebendo vinho quente, muito vinho quente.
Por momentos, Cecília Rosa parecia ter conseguido interromper o inelutável ardor e alegria da sua amiga mais querida, lembrando que, naquela hora, elas podiam celebrar, finalmente, o primeiro momento em que se puderam reunir como pessoas livres. Agora, finalmente, estavam livres todas as três amigas de Gudhem.
Ao falar nisso, Cecília Rosa achou que estava na hora, também, de entrar no assunto desagradável. Mas em vez disso, Cecília Blanka disparou, de olhos arregalados e com muitos risos, falando do que tinha acontecido com a pequena Ulvhilde, aliás, não mais tão pequena assim, visto que estava esperando seu primeiro filho.
Tal como Cecília Blanka tinha pressentido, Folke, o filho mais velho em Ulfshem, não conseguiu cair no gosto de Ulvhilde, embora fosse ele o primeiro, evidentemente, a tentar se impor. Essa tentativa de se impor, aliás, como era de esperar, apenas prejudicou a sua causa. E Ulvhilde logo começou a ficar curiosa em relação ao filho mais novo da casa, Jon. E como Jon não podia causar admiração em Ulvhilde agitando a espada e disparando flechas, preferia falar da terra, de como devia ser preparada, do que ele havia aprendido e estudado muito. Além disso, cantava muito bem e, portanto, não era muito difícil imaginar como tudo ocorreu. O casamento já estava próximo e quanto mais depressa melhor, visto que ela já estava esperando criança.
Ao saber disso, Cecília Rosa ficou mais preocupada do que satisfeita. Ficar grávida antes do casamento e de, oficialmente, se deitarem juntos, podia custar muito caro. E disso ela talvez soubesse mais do que ninguém.
Mas essa preocupação Cecília Blanka logo descartou. Os tempos eram outros. Quem quer que fosse escolhido para o lugar do novo arcebispo jamais iria tomar uma atitude dessas, de excomungar alguém que estivesse sob a proteção do rei e do conde. Portanto, o pecadilho de Ulvhilde seria em breve abençoado por Deus e daí deixaria de ser pecado. Ela, aliás, parecia muito feliz, a pequena Ulvhilde. A liberdade chegou para ela de braços abertos.
No momento, Cecília Rosa estava, portanto, aliviada por saber que Ulvhilde não corria o perigo que ela correu e com isso, finalmente, resolveu levantar ambas as mãos diante de Cecília Blanka para esta parar e prestar atenção. Trazia más notícias de Gudhem. Cecília Blanka, imediatamente, ficou em silêncio.
Mas a primeira revelação surtiu um efeito inesperado. Quando Cecília Rosa respirou fundo e começou contando que a madre Rikissa estava morta e enterrada, a sua amiga bateu palmas e soltou uma gargalhada de satisfação, mas fez de imediato o sinal-da-cruz e pediu desculpa, olhando para cima, para o céu, pelo pecado de se alegrar com a morte do próximo. A alegria, porém, logo voltou de novo. Afinal, aquela não era exatamente uma notícia ruim.
Cecília Rosa teve de recomeçar. Mas não precisou ir muito longe ao contar a história da confissão falsa e do testamento que estava para ser mandado para Roma, para Cecília Blanka assumir, enfim, uma postura séria.
Quando Cecília Rosa terminou, as duas ficaram primeiro em silêncio sem poder dizer nada. Sim, o que é que poderia ser dito a respeito da própria mentira? Que alguma jovem infeliz, obrigada a encerrar-se num convento, o de Gudhem, sob o chicote da madre Rikissa, tivesse a idéia absurda de, justamente em Gudhem, se comprometer com a Igreja, fazendo os votos de noviça, seria um pensamento impossível. Que Cecília Blanka, que o tempo todo queria voltar para o seu amado e sua coroa de rainha, quisesse se comprometer e trocar tudo pela suposta alegria de ser escrava de Rikissa, era como acreditar que as aves voam dentro da água e os peixes nadam no céu.
Mas a conversa foi interrompida por Cecília Blanka, que quis levar sua amiga para ver as crianças antes de continuarem a noite juntas que, como ambas sabiam, ia ser uma noite bem longa.
O filho mais velho, Erik, estava com o pai em Aros Oriental, visto que tinha muito que aprender em relação àquilo que um rei precisa saber. Os dois outros filhos e a filha Brigida se debatiam por um cavalo de madeira, de tal maneira que nem a governanta do castelo conseguiu pará-los quando as duas Cecílias entraram. As crianças, porém, logo sossegaram e ficaram olhando para Cecília Rosa, rindo um pouco diante da roupa estranha que esta usava. Mas depois da oração da noite, as duas Cecílias maravilharam as crianças, cantando um salmo da maneira mais bonita que jamais tinha sido ouvida em Nas. Decerto, eles nunca esperavam ouvir da mãe uma música tão celestial e se deitaram na cama, tranqüilos, chilreando de encantamento diante da novidade que a sua mãe tinha produzido e da qual jamais tinham tido conhecimento.
No caminho de volta à sala principal onde as esperava mais vinho quente, Cecília Blanka explicou um pouco preocupada que não tinha cantado muito enquanto em liberdade, pois, na sua maneira de pensar, de cantorias já tinha tido o bastante em Gudhem. Mas cantando juntas foi diferente. Era como se ela se lembrasse, então, muito mais da amizade que as uniu do que das manhãs frias, bem cedo, quando elas, bêbedas de sono, andando no chão gelado, vacilantes, caminhavam para as nojentas laudes.
Quando as duas se sentaram novamente junto do fogo aquecedor, sozinhas, sem ouvidos inimigos por perto e com o vinho nas mãos, estava na hora de tentar entender.
A intenção de Rikissa era a de que Sua Santidade em Roma declarasse o rei Knut, da Götaland Ocidental, da Götaland Oriental, da Svealand, e do arcebispado de Aros Oriental, como vivendo numa situação prostituída, começou Cecília Blanka. Significava que o pequeno conde Erik fora dado à luz em situação ilegítima, não podendo herdar a coroa, nem qualquer dos outros filhos.
Que Rikissa quisesse mandar a mensagem diretamente para o Santo Padre em Roma não era de admirar. Nem tampouco que ela fosse enviada via Dinamarca, onde os sverkerianos tinham todos os parentes no exílio e muitos deles casados com gente próxima do rei dinamarquês. O fogo e a guerra com que Rikissa tinha ameaçado no seu leito de morte, era, portanto, a guerra em que os sverkerianos voltariam para tomar a coroa do reino. Era assim que Rikissa tinha planejado.
Mas toda a sua estratégia estava construída em cima de uma mentira, objetou Cecília Rosa. Aquilo que estava no seu testamento não era verdade. A maneira como esse escrito seria lido em Roma era uma coisa, mas pelo arcebispo sueco que o leria em seguida, a coisa teria uma leitura diferente.
Acabaram discutindo sobre a questão da mentira, realmente, ter chances de vencer. Que Rikissa, como num autoflagelamento, sacrificou a alma para conseguir sua vingança, era mais fácil de entender pelas duas. Embora fosse terrível só de pensar que alguém pudesse ser tão malvada, a ponto de se deixar arder no inferno por vingança.
Ela parecia mesmo uma vítima, achava Cecília Rosa, sacrificava a sua alma para salvar seus parentes. Igual a uma mãe disposta a sacrificar a vida por sua criança ou o pai disposto a sacrificar a vida por seu filho, assim Rikissa sacrificava a vida por causa de todos os seus parentes. Podia-se estremecer diante desse pensamento, mas dava para entendê-lo. Pelo menos, caso se pertencesse ao grupo dos que tiveram de sofrer com a maldade de Rikissa durante sua vida na terra.
Era como se, de repente, elas congelassem, apesar do calor do fogo da lareira. Cecília Blanka levantou-se, caminhou para sua amiga, deu-lhe um beijo, arrumou a saia à sua volta e foi buscar mais vinho.
Ao voltar, as duas tentaram se desfazer do espírito malévolo de Rikissa que estava pairando na sala. Consolaram-se pensando que, de qualquer forma, tinham conseguido a informação a tempo e que Birger Brosa, certamente, iria poder usar essa informação do jeito certo. E então tentaram falar de outras coisas.
Cecília Rosa refletiu sobre a situação da querida amiga delas, Ulvhilde. Esta, mal tinha posto o pé fora de Gudhem, já estava a caminho de casar. Aliás, tinha até já experimentado a cama de casal. Seria isso uma boa coisa? Será que ela, na sua ingenuidade, não fora abandonada, ficando sozinha, como uma ovelha? Tivera a oportunidade de conhecer apenas dois homens na sua vida em liberdade e agora já se tinha comprometido por toda a eternidade a compartilhar a cama e o lugar com um deles, seria isso o correto?
Cecília Blanka achava que sim. Ela já conhecia Jon e estava bastante certa de que iria acontecer como aconteceu. Ela também já conhecia Ulvhilde. Era, evidentemente, uma boa aliança entre sverkerianos e folkeanos, a respeito da qual ninguém devia desgostar, mas isso era uma coisa. Outra coisa era que existiam pessoas que pareciam ser feitas umas para as outras. Certamente, Cecília Rosa e Arn foram feitos um para o outro. E assim também poderia acontecer com Ulvhilde e Jon Folkesson. Cecília Rosa iria ver isso mesmo em breve, já que no Natal todos iriam se encontrar numa grande festa em Nas. Já estava decidido.
Ao ouvir essas últimas palavras, Cecília Rosa ficou pensativa, sonhando longe por uns momentos. Como se tivesse sido claro e simples, a sua amiga rainha havia convidado para a festa de Natal. E a novidade na sua vida é que isso era verdade e podia acontecer mesmo. Cecília Rosa era livre. Podia até negar-se a comparecer, se quisesse, o que, evidentemente, não pensava fazer. Mas já a hipótese de poder dizer não, refletia ela, agora cada vez mais sonolenta, era algo de muito estranho na nova liberdade dela.
Adormeceu com o copo na mão, inexperiente como era a respeito desse lado da vida livre, o de poder beber quanto vinho quisesse.
Cecília Blanka foi buscar algumas mulheres no forte para carregar sua amiga e colocá-la na cama.
Durante o dia seguinte, Cecília Rosa sofreu uma grande transformação. As camareiras da rainha levaram-na para o banho e escovaram-na, mas sobretudo dedicaram mais do seu tempo aos cabelos dela, todos embaraçados, e escovaram e cortaram as pontas onde estavam cortadas irregularmente. O corte no convento era feito para manter os cabelos curtos, não para mantê-los bonitos, já que não eram para ser vistos.
Cecília Blanka pensou muito sobre quais os vestidos novos que ela iria dar à sua amiga. Mas não seria o caso dos mais bonitos, isso ela tinha logo entendido, visto que a passagem das roupas marrons, desbotadas, do convento para as vestes das senhoras do castelo seria grande demais. Além disso, ela tinha entendido, mesmo sem perguntar, que Cecília Rosa não queria mudar para Nas apenas como amiga da rainha. A esse respeito estava absolutamente obstinada. Cecília Blanka entendeu muito bem que o maior desejo da sua melhor amiga era ver Arn Magnusson voltar para casa. Qual a esperança que poderia existir a respeito desse assunto, depois de todos esses anos, não era fácil de imaginar. Mas particularmente grande é que não parecia. Por isso mesmo, o assunto não era muito bom para se conversar. O tempo iria dizer qual seria a resposta, quer o desejo fosse muito grande ou não.
O que ela tinha pensado para Cecília Rosa levar para a viagem, ao se despedir de Nas, era um manto que, sem dúvida, também era marrom como no convento entre as conversae, mas de lã muito mais macia, de cordeiro. Um manto com as cores da família teria sido uma escolha bem questionável. Cecília Rosa pertencia, na realidade, à família de Pâl e, por isso, teria que usar um manto verde. Mas ela sempre se considerou como a esposa de Arn Magnusson e, portanto, com o manto azul dos folkeanos. Isso tinha ficado claro como água já em Gudhem, dois anos antes, quando as duas usavam pequenas fitas azuis nos braços, enquanto as outras familiares usavam fitas vermelhas. Na verdade, o noivado de Cecília Rosa com Arn Magnusson, no entanto, por muito que valesse para ela, e se a graça fosse grande, valia também diante de Nossa Senhora, mas não valia para a Igreja. Por isso, o manto azul seria, de certa forma, o vestuário certo, mas, infelizmente, de outra forma, seria inconveniente. Era melhor usar um manto marrom, da cor do convento, até ver.
Em contrapartida, toda yconoma que passasse a ser uma trabalhadora secular dentro do convento tinha direito a usar quaisquer roupas seculares. Por isso, Cecília Blanka mandou fazer um vestido verde, já que, segundo pensava, o verde iria especialmente bem com o seu cabelo ruivo. E para lembrar em alguma coisa os folkeanos, decidiu trocar o véu negro de Cecília Rosa por um véu azul, exatamente no mesmo tom de azul que ela conhecia tão bem que até podia fazê-lo, como fazia antes com as suas próprias mãos.
Levou um certo tempo para convencer Cecília Rosa a vestir a sua nova roupagem e, além disso, como que num exercício para o futuro, a usar solto o seu cabelo ruivo um dia inteiro, sem nada a cobrir a cabeça.
Possivelmente, Cecília Blanka achou, mas nesse caso já era tarde demais, um dia apenas de exercício era um período muito curto. Isto porque, quando o fim da tarde se aproximou, ela levou Cecília Rosa para as camareiras que a vestiram com um vestido verde muito bonito, colocando um cinto de prata na cintura e uma travessa também de prata no cabelo. Segundo explicou Cecília Blanka, eram esperados convidados para o jantar naquela noite.
Depois disso, ela levou Cecília Rosa para o seu quarto onde havia um grande espelho polido no qual era possível admirar-se de corpo inteiro. Ela estremecia só de pensar no que ia acontecer.
Quando Cecília Rosa se viu no espelho, primeiro, ficou estupefata, em silêncio total. Era impossível ler no seu rosto o que pensava. Mas, logo em seguida, começou a chorar. E foi se sentar. E precisou ser consolada por muito tempo por Cecília Blanka até revelar a razão de tão inesperada tristeza.
Estava velha e feia, disse ela, entre suspiros de desalento. Aquela reflexão não era o que ela fora, tal como se lembrava dela própria. Era outra pessoa, velha e feia.
Cecília Blanka deu-lhe um beijo, mas, em seguida, caiu na gargalhada. Pegou-a pela mão e levou-a novamente até o espelho onde as duas puderam se ver ao mesmo tempo.
— Está vendo nós duas, agora — disse ela, com um ar teatral de grande seriedade. — Eu a vi durante muitos anos sem ver a mim mesma. E você me viu o tempo todo, sem se ver. Muito bem, aqui estou eu, de barriga proeminente, peitos caídos e papadas no rosto. E aqui está você, ao meu lado. E o espelho não mente, não pode mentir. Ele vê uma mulher bonita de trinta e sete anos que parece mais jovem, e ele me vê como uma mulher de quarenta anos que se parece com uma mulher de quarenta. O tempo não a consumiu tanto quanto você pensa, minha querida Cecília Rosa.
Cecília Rosa ficou em silêncio por momentos, voltou a olhar as duas no espelho, e então se virou e abraçou Cecília Blanka com emoção e pediu desculpas. Achava que muito se devia ao fato de estar desabituada de se ver no espelho. E, por isso, foi um choque ver a sua própria imagem. Mas dali a pouco já estava de novo alegre.
Entretanto, esse estranho comportamento da sua amiga encheu Cecília Blanka de preocupações, já que havia guardado um segredo por muito tempo. E em breve teria de revelá-lo.
Aquele que vinha para jantar naquela noite, chegando a Visingõ a cavalo, vindo do norte, de Bjälbo, era Magnus Mäneskõld, o filho de Cecília Rosa. Vinha expressamente para se encontrar, pela primeira vez, com a mãe.
Havia duas possibilidades, achava Cecília Blanka. Uma era não dizer nada e deixar que a mãe e o filho se reconhecessem um ao outro, tal como devia acontecer.
A outra possibilidade era a de lhe contar de imediato o que ia acontecer, com toda a perspectiva de inquietação que isso, certamente, ia trazer consigo.
Pediu, então, a Cecília Rosa para se sentar diante do espelho, fingindo que tinha mais alguma coisa para arrumar no seu cabelo. Foi buscar a escova e começou a escovar o cabelo da sua amiga, coisa que ajudava muito a tranqüilizá-la. Depois, disse, como se não fosse nada de especial, ah, sim, claro, havia algo mais, Magnus Mäneskõld estava chegando para o jantar à noite e, em breve, os dois iriam poder se encontrar, caso quisessem.
Então, Cecília Rosa ficou por algum tempo sem se mexer, olhando para a sua imagem no espelho, as lágrimas brilhando nos olhos, sem cair. E não dizia nada. E para disfarçar a sua preocupação, Cecília Blanka voltou a escovar o belo cabelo ruivo dela, ainda um pouco curto demais.
A tempestade há muito que tinha se acalmado sobre o lago Vättern e havia apenas algumas nuvens no céu, quando as duas, sem acompanhantes, cavalgaram em direção ao norte, para Visingõ. Não falaram muito durante o caminho. Cecília Blanka elogiou a sua amiga pela maneira esplêndida e segura como ela cavalgava. E Cecília Rosa mencionou alguma coisa a respeito do tempo e da bela noite que fazia.
Numa clareira da floresta onde os carvalhos há muito tinham sido cortados e transformados em barcos, elas se depararam com três cavaleiros. Todos usavam mantos azuis folkeanos. O que vinha na frente era o mais novo e o seu cabelo ruivo brilhava ao sol do poente.
Quando os três homens avistaram a rainha e a mulher a seu lado, eles seguraram e pararam ao mesmo tempo os cavalos. E então o jovem ruivo desceu do seu cavalo e começou a andar, atravessando a clareira.
O costume mandava que Cecília Rosa ficasse sentada no seu cavalo, esperando tranqüila a chegada do homem que viria até ela, para fazer uma vênia e lhe estender a mão, para ajudá-la a descer da sela do cavalo em segurança. E, só depois, então, os dois trocariam saudações.
Certamente, Cecília Rosa conhecia esse costume desde quando tinha dezessete anos e, então, se comportava como mandava a tradição. Incerto, no entanto, era se ela ainda se lembrava disso depois de tantos anos de reclusão.
Mas, ágil como se ainda tivesse dezessete anos, ela saltou para o chão, num ato muito pouco tradicional com os hábitos da corte, e se apressou, correndo pela clareira, com passadas mais largas do que permitia o seu vestido verde, quase se atrapalhando na correria.
Quando Magnus Mäneskõld viu isso, também começou a correr, e os dois se encontraram, enfim, no meio da clareira e se abraçaram sem palavras.
Depois, os dois se seguraram pelos ombros para olhar bem nos olhos um do outro. Era como se estivessem se vendo um ao outro no espelho.
Magnus Mäneskõld tinha olhos castanhos e cabelo ruivo, e era o único que tinha essas características, entre os irmãos e irmãs em casa de Birger Brosa e Brigida.
Ficaram olhando um para o outro durante muito tempo sem nenhum deles dizer qualquer coisa. Até que ele, lentamente, se ajoelhou diante dela, pegou a sua mão direita e a beijou com todo o carinho. Era o sinal de que ele, oficialmente, a reconhecia como mãe.
Ao se erguer, pegou a mão dela e a deixou apoiada por cima da sua e a levou, cautelosamente, de volta para o cavalo dela. Depois, ele se ajoelhou de novo, enquanto estendia para ela as rédeas do cavalo. Pegou, então, o estribo e ofereceu as costas para que ela pudesse se apoiar e subir na sela, tudo conforme a praxe.
Só nesse momento, quando ela já estava sentada na sela, ele resolveu falar.
— Eu pensei muito e sonhei muito com você, minha mãe — disse ele, emocionado. — Talvez eu pensasse que iria reconhecê-la, mas nunca tão bem como nos reconhecemos agora. E também não podia imaginar, apesar de meu querido amigo Birger Brosa me ter alertado para isso, que seria como que encontrar uma irmã, mais do que uma mãe. Enfim, minha querida mãe, quer me dar a honra de acompanhá-la até a festa?
— Para mim, está muito bem — respondeu Cecília Rosa, sorrindo um pouco diante da insegurança rígida do jovem ao falar.
Magnus Mäneskõld era um jovem com buço que ainda não tinha chegado perto do tempo em que seus amigos começariam a pensar numa noiva para ele. Mas era também um homem que tinha crescido nas fortalezas do poder.
Portanto, a julgar pela maneira de se comportar, segundo o que todas as boas tradições exigiam, não havia como imaginar qualquer tipo de insegurança ou de infantilidade. Ele usava o manto dos folkeanos, com aquela segurança que notoriamente mostrava que entendia o quanto isso valia. E o que significava, visto que, ao chegar perto de Nas, debaixo dos últimos raios solares do dia, antes do anoitecer, ele falou qualquer coisa a respeito da friagem da noite e, cavalgando ao lado da sua mãe, resolveu colocar o seu manto azul sobre os ombros maternos. Era assim que ele queria entrar com ela no forte do rei, em Nas, mas nada disse a esse respeito. Sua mãe, porém, entendeu tudo.
Durante a festa, bebeu cerveja como qualquer homem, mas nada de vinho como as duas Cecílias. No início da noite, perguntou sobre a clausura em Gudhem e como esta havia decorrido. A respeito disso, ele nada podia sequer imaginar. Só agora ia saber, com toda a certeza, que Gudhem era o lugar onde nasceu e como é que seu nascimento tinha ocorrido.
Mas, tal como as Cecílias esperavam e também tinham falado na linguagem das mãos que apenas elas entendiam fora do convento, Magnus Mäneskõld ia começar em breve a fazer perguntas sobre o pai e sobre o talento de Arn Magnusson com a espada e o arco e flecha. Cecília Rosa respondeu bem à vontade, pois o receio que tinha sentido antes havia se transformado numa calorosa felicidade. E explicou que, no assunto da espada, apenas ouvira o que os outros contavam, embora as histórias fossem muitas. No entanto, uma vez viu Arn Magnusson atirar com o arco num banquete no burgo real de Husaby e não foi nada mal.
Exatamente como Cecília Blanka havia falado por sinais nas costas do filho perdido, ele acabou mesmo perguntando se seu pai, de fato, era bom de tiro.
— Ele acertava numa moeda de prata com duas flechas a vinte e cinco passos de distância — respondeu Cecília Rosa, sem pestanejar. — Pelo menos, acho que eram vinte e cinco passos, mas talvez fossem vinte. De qualquer forma, que era uma moeda de prata, era mesmo.
Primeiro, o jovem Magnus ficou estupefato ao ouvir isso. Depois, as lágrimas chegaram aos seus olhos e ele se inclinou para sua mãe e a abraçou longamente.
Por trás das costas do jovem, Cecília Blanka perguntou à sua amiga se, realmente, se tratava de uma moeda de prata.
Nesse caso, devia ser uma moeda de prata muito grande, falou Cecília Rosa de volta também por sinais e deixou-se cair nos doces aromas dos braços do seu filho. Havia uma recordação ligada ao perfume de seu filho, uma coisa que lhe fazia lembrar a juventude e o amor.
No final do ano, quando o frio intenso já avisava a chegada de um inverno severo, Birger Brosa chegou a Riseberga com muita pressa. Não tinha tempo para se encontrar com a priora Beata, mais do que as conveniências exigiam, isso para que não se mostrasse desrespeitoso num convento que, evidentemente, pertencia à Virgem Maria, mas que ele, em seus pensamentos, considerava mais como propriedade sua.
Antes de mais nada, queria falar com a yconoma e como o frio da manhã tornava difícil ficar sentado, comodamente, ao ar livre, eles tiveram de se sentar na câmara de contabilidade que ela fez construir seguindo o modelo de Gudhem.
Primeiro, ele falou alguma coisa sobre negócios, mas com os pensamentos em outro assunto. Na realidade, ele estava preocupado era com a sua nova cruzada para oriente na primavera.
Depois, enfim, ele chegou aonde queria chegar. Não havia ainda nenhuma abadessa em Riseberga. Se Cecília Rosa fizesse agora os seus votos, poderia ascender rapidamente de posição, graças à sua longa experiência no mundo monástico. Ele já tinha falado com o arcebispo, o novo arcebispo, a respeito do assunto e, conseqüentemente, em princípio, não haveria problemas. Impaciente, ele parecia exigir uma resposta imediata.
Cecília Rosa sentia-se cansada e abatida. Jamais podia imaginar que o conde, que conhecia muito bem a rainha Cecília Blanka, pudesse ter a mínima convicção no seu desejo de se comprometer como noviça.
Ao se recompor e depois de pensar um pouco, ela perguntou qual era realmente a intenção por trás daquela pergunta. Ela própria não era nenhuma idiota e ninguém era mais inteligente que o conde em todo o reino, portanto, devia haver uma razão muito poderosa para esse tipo de proposta.
Birger Brosa sorriu, então, aquele sorriso amplo, escancarado, pelo qual já era conhecido. Sentou-se mais confortável, com uma das pernas por baixo do corpo, unindo as mãos em cima e à volta do joelho e olhou por momentos para Cecília Rosa, antes de dizer ao que vinha, ainda que não de forma direta.
— Você seria, na realidade, como uma ornamentação, como uma das nossas mulheres exemplares entre as folkeanas, Cecília — começou ele. — De certa forma, você já o é e, por isso mesmo, eu estou aqui com essa minha petição que sei ser pesada.
— Petição? — interrompeu Cecília Rosa, arrasada.
— Está bem, vamos chamar isso de pergunta. Você tem todo o talento em matéria de contas e de prata que apenas Eskil se lhe poderia comparar. Sim, Eskil é o irmão de Arn. É ele que conduz os negócios do reino. Portanto, a você ninguém engana, nem com palavras doces. Por isso, agora, as suas palavras vão ter mais peso. Nós precisamos de uma abadessa que possa contestar o falso testemunho de outra abadessa. É essa a questão.
— Isso você podia ter dito logo quando chegou, meu querido conde — constatou Cecília Rosa. — Quer dizer que o falso testemunho da mentirosa chegou até Roma?
— Sim, foi parar em Roma, levada por mãos cheias de boa vontade — respondeu Birger Brosa, melancolicamente. — Portanto, além dessa gente indisciplinada do outro lado do Báltico que tem de ser sufocada uma vez por todas, vamos ter que enfrentar mais lá na frente, no futuro, se as coisas não melhorarem, uma grande guerra.
— A grande guerra contra os sverkerianos e dinamarqueses?
— Isso, justamente.
— Por isso, querem que o filho de Knut seja considerado um bastardo, amaldiçoado.
— Isso mesmo. Você entende agora tudo.
— E a minha palavra e a da rainha valem pouco contra aquilo que a mentirosa abadessa escreveu para Roma?
— Isso mesmo.
— E se eu me comprometer, fazendo os votos, então, será a palavra de uma abadessa contra a palavra de outra abadessa, certo?
— Sim. E, assim, você talvez salve o país de uma guerra.
Com isso, Cecília Rosa ficou em silêncio, precisava refletir. Achava que não devia tomar uma decisão rápida perante um homem como Birger Brosa, considerado como aquele que melhor sabia pensar no país. Precisava ganhar tempo.
— É estranho como Deus conduz o mundo e dirige as pessoas — começou ela, pensando melhor nas palavras a serem ditas.
— Sim, é verdadeiramente estranho — concordou Birger Brosa, já que não havia outra coisa a dizer.
— Rikissa vendeu a alma ao diabo para lançar o país numa guerra, não é estranho tudo isso?
— É. É muito estranho — concordou novamente Birger Brosa, já um pouco impaciente.
— E agora você quer que eu entregue a minha alma, ainda aqui na terra, em vida, à Virgem Maria, para que nós possamos contrabalançar esse pecado? — continuou Cecília Rosa, com uma expressão inocente.
— Agora você resumiu toda a questão com palavras duras numa casca de noz — reagiu Birger Brosa.
— Vão dizer que a nova abadessa, uma vez, há muito tempo, era uma jovem que odiava Rikissa, que se recusou a perdoá-la até mesmo no leito de morte e, por isso, a sua palavra não vale nem a água que bebe! — exclamou Cecília Rosa, num tom de voz que a espantou, mais do que ao conde.
— Você é muito esperta e muito dura, Cecília Rosa — elogiou ele, depois de ter refletido por momentos. — Mas você tem uma chance de salvar o país de uma guerra com um sacrifício que inclui a posição de abadessa, a mais elevada. Riseberga será o seu reino, onde você mandará como se fosse uma rainha. Nada comparado a ser chicoteada por qualquer Rikissa. O que é que você poderá fazer com a sua vida para melhor servir os seus parentes, a sua rainha e o seu rei?
— Agora é você que está sendo duro, Birger Brosa. Você tem idéia do que eu pedi e esperava todas as noites durante vinte anos? Você entende, com a sua alma de guerreiro, o que é passar vinte anos da sua vida dentro de uma gaiola? Estou falando assim, atrevida e francamente, com você não apenas porque estou desesperada diante do que «stá me pedindo, mas porque sei que você gosta de mim e não acha ruim eu falar desse jeito.
— Isso é verdade, Cecília Rosa, minha querida, é verdade — disse, suspirando, o conde, batendo em retirada.
Cecília Rosa deixou-o sozinho, sem dizer uma palavra, ficando fora por alguns momentos. Quando voltou, trazia nas mãos um manto folkeano muito bonito. Revirou-o depois para que os fios de ouro do leão brilhassem à luz da vela. E deixou que ele sentisse a maciez da pele do lado interno do manto. Ele acenou com a cabeça, maravilhado, sem dizer nada.
— Durante dois anos, trabalhei neste manto. Era como se fosse um sonho — explicou Cecília Rosa. — Agora, temos este modelo para ser visto e copiado aqui em Riseberga, ainda que, por enquanto, continuemos atrás de Gudhem nesta arte.
— É realmente muito bonito. Jamais vi uma cor azul tão bonita quanto esta. E um leão tão majestoso — ressaltou Birger Brosa, pensativo, já suspeitando do que Cecília Rosa iria dizer a seguir.
— Você entende, querido amigo, para quem eu confeccionei este manto? — perguntou Cecília Rosa.
— Sim, eu sei. E queira Deus que você mesma venha a colocar esse manto sobre os ombros de Arn Magnusson. Eu compreendo o seu sonho, Cecília Rosa. Entendo muito melhor do que você pensa e também sei no que pensou durante todos esses anos que levou a confeccionar esse manto. Mas, ainda assim, você precisa me escutar e entender também. Se Arn não chegar logo, comprarei esse manto para o dia em que Magnus Mäneskõld se casar ou para o dia em que Erik Knutsson for coroado rei ou para usar em qualquer situação que eu julgar conveniente. Mas você não pode ficar esperando eternamente, Cecília Rosa, esse direito você não tem, contra seus parentes.
— Vamos, então, rezar para que Arn chegue logo — disse Cecília Rosa, baixando os olhos.
Diante de um tal apelo, não havia outra escolha, nem para o homem nem para o conde, em especial, dentro de um convento e, em especial, de um convento de que ele era o proprietário. Birger Brosa acenou com a cabeça, deviam rezar.
Os dois se ajoelharam entre contas e ábacos e rezaram pela salvação de Arn Magnusson e seu regresso imediato.
Cecília Rosa rezou por conta do seu amor intenso que jamais esmoreceu durante vinte anos e pelo qual ela preferia morrer do que desistir.
O conde rezou também, mas por outra razão, ainda que honesta. Mas estava pensando que, se não fosse possível resolver o problema da sucessão ao trono pela maneira simples de colocar a palavra de uma abadessa com a de outra abadessa, então, todos os bons guerreiros que pudessem ser reunidos do lado folkeano seriam necessários.
E como se ouviu tantas vezes do atualmente santificado padre Henri, Arn Magnusson era um guerreiro com a graça de Deus, sob muitos aspectos. Na pior das hipóteses, a sua presença ali no país seria necessária muito em breve.
Arn RECEBEU TRATAMENTO durante duas semanas no Hospital Hamediyeh, em Damasco, antes de os médicos conseguirem dominar sua febre provocada pelos ferimentos e disseram que era uma graça de Deus, pois, por tanto tempo seguido com febre ninguém costumava escapar com vida. Desde o início, Arn tinha muito mais ferimentos no corpo do que podia verificar, mas achou que podiam ser uns cem. Nunca antes, no entanto, ele tinha sido ferido tanto quanto no Chifre de Hattin.
Desde o primeiro momento, não se lembrava de muita coisa. Tinham-no levado e retirado a malha de aço de proteção de todo o corpo, e costuraram os piores ferimentos com pressa, antes de o levar, assim como feridos sírios e egípcios, o mais rápido possível para as montanhas e suas temperaturas amenas. Durante a mudança, Arn e outros feridos sofreram muito e a maioria recomeçou a sangrar. Mas os médicos achavam que seria pior deixá-los no calor entre moscas e o mau cheiro dos cadáveres em Tiberíades.
Como é que mais tarde chegou a Damasco, ele não se lembrava. Isso porque quando o transferiram de novo da enfermaria na montanha, a sua febre voltou com força total.
Em Damasco, os médicos abriram novamente algumas das suas feridas, tentaram limpá-las e, depois, costuraram-nas de novo, se bem que, nesse momento, com mais tempo e mais cuidado do que na primeira enfermaria de campanha, em Tiberíades.
O pior foi um golpe de espada que atravessou a malha de aço e cortou fundo a panturrilha e um golpe de machado que abriu o elmo de lado, por cima do olho esquerdo, tendo cortado a sobrancelha e o lado esquerdo da testa. Nos primeiros tempos, não conseguia conservar nenhuma comida no estômago. Vomitava qualquer alimento, e a dor de cabeça era terrível, de tal forma que a dormência da febre veio como um alívio.
Não se lembrava de nenhuma dor em especial, nem mesmo quando cauterizaram sua perna com ferro em brasa.
Quando a febre, finalmente, abrandou, ele descobriu primeiro de tudo que podia ver com ambos os olhos, isto porque, segundo se lembrava, tinha estado cego do olho esquerdo.
Estava deitado no segundo andar, num quarto muito bonito, com azulejos azuis, à sombra de um parque com palmeiras altas. De vez em quando, o vento mexia com as folhas das palmeiras, fazendo um ruído agradável. E, embaixo, no pátio interno, ele ouvia a água correndo nas pequenas fontes decorativas.
Os médicos se portaram friamente respeitosos para com ele nos primeiros tempos e, seguramente, fizeram o seu trabalho tão bem quanto a sua competência o permitia. Por cima da cama de Arn havia uma tabuleta, em preto e ouro, com o nome em árabe de Saladino que assinalava ser Arn mais valioso vivo do que morto para o sultão, apesar de se cochichar que ele era um dos demônios brancos com a cruz em vermelho.
Quando a febre cedeu, e Arn começou a falar normalmente, a alegria foi ainda maior entre os médicos que, espantados, se reuniam à volta da sua cama para escutar um templário que falava a língua de Deus. Sendo médicos em Damasco, eles não sabiam aquilo que um em cada dois emires sabia, que quem estava ali se chamava Al Ghouti.
O mais famoso de todos os médicos chamava-se Musa ibn May-nun e tinha vindo do Cairo onde fora o médico pessoal de Saladino durante muitos anos. O seu árabe tinha uma entonação diferente aos ouvidos de Arn e isso era resultado de ter nascido longe, em Andaluzia. A vida nessa região tinha ficado difícil para os judeus, contou ele para Arn no primeiro encontro. Arn não se admirou de o médico pessoal de Saladino ser judeu, visto saber que o califa em Bagdá, o líder superior dos muçulmanos, tinha muitos judeus ao seu serviço. E como, segundo sua experiência com médicos sarracenos, ele sabia que todos eram competentes tanto na fé quanto nas regras de filosofia, aproveitou a ocasião para perguntar sobre o significado de Jerusalém para os judeus. Nessa altura, Musa ibn May-nun, admirado, levantou a sobrancelha e quis saber o que levava um guerreiro cristão a se interessar por uma coisa dessas. Arn contou, então, a respeito do seu encontro com o grão-rabino de Bagdá e a que levou esse encontro, pelo menos durante o tempo em que ele deteve o poder em Jerusalém. Se os cristãos tinham o Santo Sepulcro como santuário, e os muçulmanos, o rochedo de Abraão onde o Profeta » que esteja em paz, subiu ao céu, então, dava para entender a força que esses lugares tinham como centros de peregrinação para os crentes. Mas e o templo do rei Davi? Era apenas uma construção erguida e derrubada pelas gentes, o que podia haver de tão sagrado numa coisa dessas?
Quando o médico judeu, pacientemente, explicou para Arn como Jerusalém era o único lugar sagrado para os judeus e como as profecias indicavam que os judeus iriam voltar para reedificar seu reino e reconstruir o templo de novo, Arn soltou um suspiro profundo e angustiado. Não por causa dos judeus, salientou, em seguida, ao notar que o seu novo amigo conquistado ficou um pouco confuso. Mas por causa de Jerusalém. Em breve, a cidade iria cair nas mãos de muçulmanos, se isso já não havia acontecido. Daí os cristãos não iriam poupar esforços para reconquistá-la. E se os judeus também se metessem na luta por Jerusalém, então, a guerra iria levar mil anos ou mais.
Musa ibn May-nun foi logo buscar um pequeno banco para se sentar ao lado da cama de Arn e, realmente, entrar numa discussão que, de repente, era para ele mais importante do que tudo o mais a fazer no hospital.
Pediu, então, a Arn que fosse mais explícito, e este contou as conversas que tivera tanto com Saladino como com o conde Raymond, de Trípoli, em que ambos, embora um fosse muçulmano e o outro cristão e os dois fossem dos mais perigosos inimigos no campo de batalha, pareciam raciocinar da mesma maneira nessa questão. A única forma de terminar com essa guerra eterna era a de dar direitos iguais para todos os peregrinos, independentemente do objetivo da sua viagem à Cidade Santa e de a cidade ser chamada de Al Quds ou Jerusalém.
Ou Yerushalaim, acrescentou Musa ibn May-nun, com um sorriso.
Claro, concordou logo Arn. Esses eram os seus pensamentos, ao dar autorização ao grão-rabino de Bagdá para que os judeus pudessem fazer suas orações junto ao Muro das Lamentações, do lado oriental da cidade. Mas, naquela época, ele ainda não conhecia a amplitude da santidade desse muro para os judeus. A esse respeito era preciso procurar uma oportunidade para falar com Saladino antes de ele tomar a cidade, concordaram os dois, imediatamente.
A amizade dos dois cresceu nas semanas seguintes, até que Musa começou a obrigar Arn a se levantar e a fazer uma primeira tentativa de caminhar. O médico achava que não se devia esperar demais ou de menos para realizar essa tentativa. Um dos perigos era a ferida na perna reabrir. Outro era a perna ficar rígida e se enfraquecer demais antes de recomeçar a fazer seu serviço na vida.
De início, Arn deu apenas algumas voltas embaixo no jardim, entre as palmeiras, as fontes e os pequenos lagos. No lugar, era fácil de caminhar, visto que todo o chão do jardim até as raízes das palmeiras era de mosaicos. Em breve, Arn pôde receber por empréstimo algumas roupas e os dois puderam começar a sair para cautelosos passeios pela cidade. Como a grande mesquita estava situada a curta distância do hospital, ela se tornou o primeiro destino dos dois. Se bem que, não sendo muçulmanos, não podiam entrar na mesquita, mas tinham acesso ao enorme jardim que a rodeava, e onde Musa chamou a atenção de Arn para todos os maravilhosos mosaicos dourados nos corredores entre os altos pilares, tudo realizado, notoriamente, no tempo da cristandade e as padronagens muçulmanas em preto e branco e vermelho no chão de mármore que era do tempo dos umayyadas. Arn ficou maravilhado perante toda essa arte cristã bizantina e por ter sido poupada, já que espelhava as imagens de pessoas e santos, uma arte que a maioria dos muçulmanos julgaria infiel. E a grande mesquita tinha sido sem dúvida uma igreja, ainda que tivessem erguido um gigantesco minarete ao seu lado.
Musa ibn May-nun salientou que, pelo que sabia, em Jerusalém tinha acontecido o contrário, as duas grandes mesquitas até algum tempo atrás eram igrejas. Era muito prático, ironizou, manter todos esses lugares santificados, tal como haviam sido construídos. Isso porque se algum novo conquistador se apresentasse, era só trocar na cúpula o sinal-da-cruz pela meia-lua ou fazer o contrário, dependendo de quem tivesse ganho ou perdido. Pior seria ter de derrubar velhos templos e construir novos a cada mudança de mando.
Como Arn nada sabia da fé judaica, este se tornou um dos grandes temas das suas conversas, e como ele sabia ler em árabe, Musa ibn May-nun trouxe um livro que ele próprio escreveu, intitulado Guia para os perplexos. Depois de Arn ter começado a ler o livro, suas conversas tornaram-se infinitamente longas. Aquilo em que Musa ibn May-nun mais trabalhava na sua filosofia era encontrar a relação correta entre o bom senso e a fé, entre as teorias de Aristóteles e a fé pura, a fé que alguns consideravam liberada do bom senso, apenas e exclusivamente a fé revelada e santificada.
Achava que conseguir a fusão dessas supostas contradições num só todo seria a maior missão da filosofia.
Arn conseguia seguir esse longo raciocínio, mas não sem uma certa dificuldade. Era, dizia ele, como se a sua cabeça estivesse secando um pouco, desde os tempos na juventude em que, pelo menos, os pensamentos de Aristóteles eram motivo de conversa de todos os dias. Mas ele concordava que nada era mais importante do que incutir o bom senso na fé. Isto porque era fácil ver aonde a fé cega e sem equilíbrio podia conduzir. Era o que a guerra na Terra Santa tinha demonstrado com a força de um terremoto. E, no entanto, que houvesse muitos homens andando pelo chão ainda estremecendo e dizendo que nada tinham visto e nada tinham ouvido, isso fazia parte dos verdadeiros mistérios do mundo dos sentimentos.
No ritmo em que as crostas das feridas de Arn começaram a cair, deixando manchas vermelhas, mas também a certeza de cicatrizes bem curadas, crescia a sua amizade com o médico e filósofo Musa ibn May-nun e a sua capacidade dos tempos de juventude, de pensar em algo mais do que em regras e obediência. Era como se, dizia ele, não só o seu corpo estivesse sarando.
Possivelmente, acordado da sua sonolência, ele se lançava com todo o ardor no mundo superior do pensamento, só para esconder a atormentada certeza do que estava acontecendo lá fora no mundo real. Mas o seu esforço inconsciente de jogar essas certezas para longe, esbarrava na dificuldade de observar os visitantes dos outros doentes tratados no Hospital de Hamediyeh, que com júbilo contavam que agora Acre e Nablus haviam caído, que agora tinha sido a vez de Beirute ou Jebail, o mesmo acontecendo com este ou aquele castelo. Não era nada fácil ser o único cristão entre todos os outros que, à sua volta, demonstravam grande alegria, festejando em altos brados a corrente de tais notícias.
Quando o irmão de Saladino, Fahkr, veio visitá-lo, todas essas notícias foram confirmadas, ainda que esse assunto estivesse longe de ser o primeiro dos que entre eles se falou.
Ficaram os dois emocionados com o reencontro e se abraçaram de imediato como se fossem irmãos, o que fez com que todos nas proximidades, no belo jardim do hospital, arregalassem os olhos, já que todos conheciam o irmão de Saladino.
A primeira coisa que Fahkr quis relembrar, embora não fosse necessário, visto que Arn já tinha repensado o mesmo assunto várias vezes, foi o momento de gracejos na hora da separação em Gaza, onde Fahkr foi prisioneiro de Arn e ia subir a bordo do navio que o levaria de volta para Alexandria. Que seria um prazer se reverem numa situação inversa, em que o prisioneiro fosse o carcereiro. E assim Deus quis que acontecesse, que o gracejo se tornasse realidade.
Foi, então, que Arn se fingiu preocupado e receoso que Fahkr tivesse algumas reclamações do tempo em que estivera preso em Gaza. Fahkr respondeu do mesmo jeito, brincando que talvez tivesse sido obrigado a comer carne de porco, o que Arn negou com toda a veemência. E os dois riram e se abraçaram de novo.
Mudando de tom, Fahkr falou, então, seriamente, que precisava da palavra de Arn, de que não tentaria fugir ou pegar em armas contra quem quer que fosse, durante o tempo em que se mantivesse como convidado de Saladino Se Arn tivesse que seguir qualquer outra regra que previsse o contrário, seria necessário, infelizmente, tratá-lo de outra maneira, sob vigilância. Arn explicou então que, primeiro, não existia regra nenhuma que impedisse qualquer templário de manter a sua palavra, dada sob juramento, palavra que ele dera a Fahkr e que, segundo, ele não podia ser considerado mais como templário, visto que o seu tempo de serviço na ordem, por coincidência, havia terminado na noite da batalha nojjÉJhifre de Hattin.
Logo Fahkr ficou mais sério, dizendo que isso devia ser visto como um sinal de Deus, que Arn tivesse sido salvo justo no momento em que o seu tempo como templário havia terminado. Arn objetou, afirmando que nesse caso ele acreditava mais na clemência de Saladino do que na clemência de Deus, ainda que não se lembrasse mais, com certeza, de como tudo tinha acontecido.
Fahkr não respondeu, antes colocou no pescoço de Arn um grande medalhão em ouro, gravado com o nome de Saladino, pegou-o pelo braço e saiu com ele pela rua. Arn sentiu-se ainda como se estivesse nu nas suas roupas emprestadas, sentindo, sobretudo, a falta do peso da malha de aço, mas se não fosse pelo fato de estar sem nada na cabeça e com seu cabelo louro ao vento, visível a longa distância, ele e Fahkr podiam seguir pela rua, sem serem notados. Era como se causasse uma curiosidade maior ao caminhar ao lado de Fahkr do que ao lado de Musa ibn May-nun. Era como se fosse mais natural que um judeu e um cristão andassem juntos do que um cristão e o irmão do sultão.
Fahkr, que estava um pouco embaraçado com essa notoriedade, puxou por Arn e entrou com ele num grande bazar ao lado da mesquita, e comprou um tecido para Arn colocar em várias voltas na cabeça. Depois disso, Arn foi convidado a escolher entre vários mantos leves, de origem síria, na barraca ao lado. E quando viu a cor azul dos folkeanos lhe ser oferecida por um vendedor ardoroso, não teve mais dúvidas, fez a sua escolha. Pouco depois, de volta à rua, Arn e Fahkr se fundiram com os demais no congestionamento entre as barracas do bazar.
Fahkr guiou-o pelas ruelas serpenteadas do bazar até chegarem à entrada de um sítio onde havia montanhas de armas, escudos e elmos de cristãos. Fahkr explicou que fora ordem expressa de Saladino, que ele escolhesse uma nova espada e, de preferência, a mais bonita que encontrasse. Saladino disse que devia a Arn uma espada de preço elevadíssimo. O vendedor já tinha colocado as espadas dos cristãos em dois pequenos montes e um terceiro, grande, gigantesco. Em um dos pequenos montes estavam todas as espadas mais caras, as que podiam ter pertencido aos reis cristãos, decoradas com ouro e pedras preciosas. No outro, ao lado, estavam as espadas quase tão preciosas quanto as anteriores. E, por fim, no monte maior, estavam as de pequeno valor.
Arn se dirigiu logo para o monte maior e ficou procurando entre as espadas de templários, uma a uma, olhando os números marcados. Chegou, então, a reunir três espadas do tamanho certo e, finalmente decidido, estendeu uma delas, sem hesitar, para Fahkr.
Fahkr olhou decepcionado para a espada, simples e sem ornamentos, e chamou a atenção de Arn para o fato de estar perdendo a oportunidade de ganhar uma fortuna, apenas por teimosia. Arn reagiu, dizendo que uma espada só valia uma fortuna para os homens que não sabiam usá-la e que uma espada de templário, do peso e tamanho certos, como aquela que ele lhe tinha entregue, era a única que queria usar na cintura. Fahkr ainda tentou persuadi-lo a comprar a espada mais cara para depois vendê-la e comprar a mais barata, por um ou dois dinares, e ficar com a diferença. Arn, porém, riu dessa proposta, pois achava que isso dificilmente poderia ser considerado como honra ao presente de Saladino.
Mas Fahkr não deixou que ele ficasse com a espada escolhida, antes a pegou e falou com o vendedor qualquer coisa que Arn não pôde ouvir. Depois, saíram dali sem a espada na direção do palácio de Saladino onde deveriam passar o resto do dia e a noite. Talvez o próprio Saladino voltasse para Damasco ao anoitecer e, nesse caso, Al Ghouti era um dos homens com quem ele queria se encontrar de imediato; portanto, era uma questão de ficar por perto, explicou Fahkr.
O palácio de Saladino ficava longe de qualquer das grandes construções à volta da grande mesquita. Era um edifício simples de dois andares com poucas decorações, e se não fosse pelos dois tristes sentinelas mamelucos em frente do portão, ninguém poderia acreditar que esse era o endereço do sultão. As salas por onde passaram estavam mobiliadas com parcimônia, com tapetes e almofadas para sentar, enquanto que as paredes eram ornamentadas apenas com bonitas citações do Alcorão que Arn se divertira a citar à medida que passavam por elas.
Quando, finalmente, chegaram a uma das salas mais afastadas que dava para um longo balcão coberto por uma arcada, Fahkr ofereceu a Arn água fria e romãs e, depois, se sentou com uma expressão, fácil de entender; queria falar de um assunto mais sério.
O que restava do poder cristão na Palestina era Tiro, Gaza, Ascalão, Jerusalém e algumas fortalezas, citou Fahkr, com contido ar de triunfo. Primeiro, iam tomar Ascalão e Gaza e, segundo o desejo de Saladino, Arn estaria junto. Depois, iriam tomar a própria Jerusalém -o e Saladino queria ter Arn como conselheiro até nessa questão. Saladino iria apresentar ele próprio a sua solicitação a Arn assim que se encontrassem. Portanto, era até bom deixar que Arn preparasse os seus sentidos e decidisse que posição tomaria.
Arn respondeu, triste, que ele há muito tempo sabia que essa seria a situação final, e que os cristãos deviam culpar, acima de tudo, seus pecados por essa grande infelicidade. E, sem dúvida, ele já não estava preso ao seu juramento para com os templários. Mas seria também um passo muito grande se passar para o lado do inimigo.
Fahkr cofiou um pouco a sua barba rala e reagiu, pensativamente, dizendo que Arn, certamente, tinha entendido mal o desejo do sultão. Não era exatamente a questão de pedir a Arn para usar armas contra os seus, antes pelo contrário. Já havia cristãos mortos em número suficiente ou expulsos de suas casas e para o exílio. Não era isso que ele queria, mas, sim, algo mais importante. O melhor, entretanto, era deixar que Saladino explicasse ele próprio o que desejava. Como certamente já havia entendido, Arn seria libertado por Saladino na hora certa. É claro que Saladino não tinha poupado a sua vida no Chifre de Hattin para depois matá-lo. E também não seria Arn um prisioneiro pelo qual fosse possível receber dinheiro. Mas a respeito de tudo isso, era melhor que Arn falasse direto com Saladino. Entretanto, conviria pensar no que Arn gostaria de fazer com a sua liberdade.
Arn respondeu que os seus vinte anos de serviços prestados na Terra Santa, para ele, tinham terminado. Se possível, gostaria de viajar para casa, para o seu país, o mais depressa que pudesse. Embora tivesse uma pequena preocupação a respeito disso. Tinha cumprido o prazo de serviço, mas, segundo o Regulamento, devia ser liberado pelo grão-mestre da Ordem dos Templários, caso contrário seria considerado como desertor. E como é que isso poderia ser feito, não tinha a menor idéia.
Em relação a esta preocupação, Fahkr pareceu muitíssimo divertido, explicando que bastava Arn esfregar com o seu dedão duas vezes a lamparina de óleo diante de si para que o seu desejo se tornasse realidade.
Arn olhou, cheio de dúvidas, para o seu amigo curdo, procurando uma explicação para a brincadeira nos olhos dele, mas como Fahkr insistia em apontar para a lamparina, Arn estendeu a mão e passou o dedão nela.
— Assim seja, Aladim, seu desejo será satisfeito! — exclamou Fahkr, alegre. — Você vai receber todos os documentos que quiser, assinados e carimbados, com o sigilo, pela própria mão do grão-mestre. Acontece que ele é também nosso conviva aqui em Damasco, embora de forma menos amistosa do que aquela que, com toda a razão, se concede a você. Basta você escrever o documento e logo estará tudo resolvido!
Arn não se admirou nem um pouco com o fato de Gérard de Ridefort estar preso em Damasco. Que esse homem se bateria pela Santa Maria, a Mãe de Deus, até a derradeira gota de sangue, isso jamais ele iria poder imaginar. Mas estaria ele disposto a assinar qualquer documento?
Fahkr acenou com a cabeça, afirmando, entre sorrisos, que assim iria acontecer. E quanto mais cedo melhor! Chamou um servente e mandou que trouxesse do bazar os utensílios necessários para escrever. Depois, assegurou a Arn que iria até ter a oportunidade de ver o grão-mestre assinar o documento.
Quando o pergaminho, a pena e a tinta de escrever chegaram, trazidos pouco depois por um servente ofegante, Fahkr deixou Arn sozinho para compor o texto, mandou trazer uma banqueta e foi fazer uma pequena oração e tratar do jantar.
Arn ficou olhando para o pergaminho em branco na sua frente, a pena na mão, tentando ver claramente a sua situação e em relação à ordem mundial, o que parecia incompreensível e estranho. Ele iria escrever a carta da sua própria liberação, tudo acontecendo no palácio do sultão em Damasco, onde se encontrava agora, diante de uma banqueta síria, sentado numa almofada macia, com as pernas cruzadas, com um turbante envolvendo a sua cabeça.
Muitas vezes, nos últimos anos, ele tinha tentado imaginar o seu fim como templário. Mas na sua fantasia não tinha chegado nem perto do que acabou acontecendo.
E, então, se concentrou e colocou no pergaminho, rápido e com segurança, o texto que ele conhecia bem, já que durante o seu tempo como Mestre de Jerusalém tinha escrito um sem-número de cartas semelhantes. Escreveu também um adendo que, por vezes, se justificava: "Que este cavaleiro que com grande e merecida honra deixava o serviço no Sagrado Exército da Ordem dos Templários, estava livre para voltar à sua vida anterior e, além disso, quando julgasse conveniente, teria o direito de envergar o uniforme de templário no grau com que deixou a ordem."
Leu de novo o texto e, lembrando-se de que Gérard de Ridefort não sabia latim, escreveu também, embaixo, a tradução em francês.
Havia ainda espaço livre e, então, ele não pôde evitar o pequeno prazer de escrever todo o texto pela terceira vez para o limitado intelectual e grão-mestre, só que, desta feita, em árabe.
Durante alguns momentos, ficou abanando o pergaminho para secar o texto, deu uma olhada para o sol e achou que ainda faltavam umas duas horas para as orações da noite, tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos. Nessa altura, voltou Fahkr, que olhou para o documento e riu muito quando viu a tradução em árabe. Leu o texto e, depois, pegou a pena de ganso para tornar mais claros alguns dos sinais diacríticos. Na realidade, era muito engraçada a brincadeira que estava para ser feita com Sua Santidade, o grão-mestre, pensou ele, enquanto pegava Arn pelo braço, conduzindo-o, novamente, para a cidade. Precisaram andar apenas alguns quarteirões antes de chegar ao edifício onde estavam como prisioneiros os cristãos mais valiosos. Era uma casa maior e melhor mobiliada do que a do próprio Saladino.
Mas neste caso, evidentemente, havia sentinelas e uma ou outra porta fechada à chave, ainda que fosse difícil imaginar aquilo que um grão-mestre fugitivo iria fazer, se chegasse às ruas de Damasco. Fahkr explicou tudo, dizendo que tinha sido um gesto vazio de sentido da parte do grão-mestre e do rei Guy declarar que um juramento feito aos infiéis não tinha validade.
O rei Guy e o grão-mestre Gérard de Ridefort permaneciam juntos e trancados em duas salas muito bem decoradas com móveis em estilo cristão. Estavam sentados junto de uma mesa árabe entalhada, jogando xadrez, quando Fahkr e Arn entraram, e as portas, ostensivamente, foram fechadas a chave, novamente.
Arn saudou os dois com respeito, mas sem exageros, e chamou a atenção para o fato de o regulamento dos templários proibir o jogo, mas que ele não pretendia perturbar ninguém. Era apenas um documento que ele queria ver assinado e que agora estendia a Gérard de Ridefort, com uma vênia um tanto, esta sim, exagerada. O grão-mestre, inesperadamente, pareceu um pouco mais humilhado do que furioso, diante da maneira menos submissa com que Arn o tratou.
Gérard de Ridefort fingiu ler o documento e tentou franzir a testa como se estivesse pensando no conteúdo. Depois, como esperado, perguntou a Arn qual era a intenção com aquilo, mas formulou a pergunta de modo que a resposta serviria mais para explicar o texto de que ele não entendia nada. Então, Arn pegou de volta o pergaminho e leu o texto em francês, explicando depois, resumidamente, que estava tudo em ordem visto ele ter feito juramento por tempo limitado para servir a Ordem dos Templários, o que não era fora do comum.
Gérard de Ridefort, finalmente, ficou furioso e rosnou que não tinha quaisquer planos para assinar esse documento e que se o ex-Mestre de Jerusalém pensava em desertar, isso era uma questão para ser resolvida entre ele e a sua consciência. E, então, fez um sinal com a mão para que Arn desaparecesse da sua frente e olhou fixamente para o tabuleiro de xadrez como Se estivesse pensando profundamente no seu próximo lance. O rei Guy não disse nada e apenas olhava, surpreso, do grão-mestre na sua veste da ordem para Arn, na sua veste sarracena.
Fahkr, que tinha entendido o suficiente da situação, foi até a porta e bateu de leve nela. Logo abriram a porta e, então, ele murmurou algumas palavras, antes de a porta se fechar novamente.
Fahkr voltou então para Arn e lhe disse em voz baixa, como se ele inconscientemente achasse que os outros dois na sala pudessem entender, que o assunto iria ficar resolvido em poucos minutos, mas que era mais fácil de resolver com outro tradutor do que com Arn.
Já a caminho da saída, com a mão de Fahkr cautelosamente no seu ombro, Arn cruzou com um sírio que, a julgar pelo vestuário e pelo aspecto, era mais um comerciante do que um militar.
Arn não precisou esperar muito tempo do lado de fora e já Fahkr voltava com o documento na mão, devidamente assinado e carimbado com o sigilo do grão-mestre. Estendeu o documento, valendo meia liberdade para Arn, com as mãos estendidas e fazendo uma vênia profunda.
— O que é que você disse para ele mudar, assim, de repente, de intenções? — perguntou Arn, curioso, no caminho de volta para o palácio do sultão, caminho que agora estava mais apinhado com todo o mundo chegando para a oração da noite.
— Ah, nada de especial — respondeu Fahkr como se falasse de uma bagatela. — Apenas que Saladino apreciaria um favor para um templário que considerava muitíssimo. E que Saladino talvez ficasse preocupado se esse pequeno favor não fosse satisfeito. Qualquer coisa nesse sentido.
Arn podia imaginar uma longa lista de possibilidades para formular um tal pedido, mas achou que Fahkr talvez tivesse expresso a coisa de uma maneira um pouco mais dura do que queria confessar.
À noite, pouco antes da oração noturna, Saladino chegou de volta a Damasco, à frente de um dos seus exércitos. Chegou, festejado pelo povo nas ruas, o caminho todo até a grande mesquita. Mais do que nunca, ele merecia agora a honra do título al-Malik al-Nasir, o Rei Vencedor.
Dez mil homens e mulheres rezaram com ele quando o sol se pôs. Era tanta gente que não só a gigantesca mesquita se encheu, como também uma grande parte do jardim, do lado de fora.
Depois das orações, Saladino cavalgou lentamente, passando pela multidão totalmente só, a caminho do seu palácio. Para todos os seus emires e outros que o procuraram com mil problemas para resolver, ele disse que nessa primeira noite em Damasco queria ficar apenas com o seu filho e o seu irmão. Afinal, voltava de dois meses em campanha e nesse tempo nunca tivera um momento sequer para si. Diante dessas palavras, ninguém mais pensou em desobedecer.
Muito bem-humorado, Saladino avançou, saudado e abraçado por amigos e parentes, pelo seu palácio. E parecia mesmo inclinado a deixar toda espécie de negócios de Estado de lado nessa noite. Por isso, ficou surpreso e, por um curto momento, perturbado ao se ver, de repente, diante de Arn.
— Os vencidos saúdam, Rei Vencedor — exclamou Arn, todo sério, e logo a vozeria alegre à volta deles parou. Saladino hesitou mais um pouco, antes de, repentinamente, mudar de idéia, dando mais dois passos à frente, abraçando Arn e dando-lhe dois beijos, um em cada face, o que gerou um rumor entre todos os presentes.
— Sinta-se saudado, também, templário, você que, talvez mais do que ninguém, me concedeu a vitória — respondeu Saladino, mostrando depois com o braço que queria Arn ao seu lado na refeição que se seguia.
Em breve, chegaram grandes bandejas com pombos e codornas assados, e grandes garrafas de ouro e prata com água gelada.
Junto de Saladino e Arn, sentou-se o filho do primeiro, Al Afdal, que era um jovem de muita energia, de olhar intenso e barba rala. Não demorou muito e já ele pedia para fazer uma pergunta a Arn.
Havia comandado sete mil cavaleiros nas fontes de Cresson no ano anterior e um dos seus emires disse que Al Ghouti era quem segurava a bandeira dos templários, era verdade?
Arn, então, relembrou a lucura do ataque que Gérard de Ridefort os obrigara a fazer. Cento e quarenta cavaleiros contra sete mil. E a fuga infame em que ele foi obrigado a participar. Enfim, pareceu incomodado com a pergunta, mas confirmou que, de fato, tinha estado lá e tinha sido o porta-bandeira que fugiu.
Sobre isso o jovem Al Afdal não parecia surpreso e mencionou que tinha dado ordens aos seus emires para que Al Ghouti fosse apanhado vivo. Mas o que ele nunca havia entendido, nem quando isso aconteceu, nem mais tarde, foi a razão de os cavaleiros cristãos, deliberada-mente, a sangue-frio, terem avançado para a morte.
A mesa em volta ficou em silêncio para ouvir a resposta de Arn, mas este corou e disse que não tinha resposta a dar. Encolheu os ombros, afirmando que, por seu lado, a operação pareceu uma loucura tão grande quanto o foi para Al Afdal e para os seus homens lá embaixo. Não existiu nenhuma lógica nesse ataque. Foi apenas uma daquelas oportunidades em que a fé e o bom senso seguiram por caminhos diferentes. Essas coisas, por vezes, acontecem. Ele mesmo tinha visto os muçulmanos fazerem coisas semelhantes, mas talvez nunca com tanto exagero como daquela vez. Foi Gérard de Ridefort, continuou ele, com uma expressão de desaprovação que a ninguém passou despercebida, que ordenou o ataque e mais tarde decidiu fugir tão logo havia mandado todos os seus subordinados para a morte. O porta-bandeira, quer dizer, ele mesmo, era obrigado a seguir o seu comandante, acrescentou finalmente, envergonhado.
No silêncio embaraçoso que se seguiu, Saladino salientou que Deus, mesmo assim, tinha decidido tudo pelo melhor. Foi melhor para Arn e para ele mesmo que Arn tivesse sido feito prisioneiro no Chifre de Hattin e não antes. O que Saladino quis dizer com isso, Arn não entendeu no momento, mas também não estava com vontade de prolongar a conversa sobre o assunto com mais uma pergunta.
Logo em seguida, Saladino deu a entender que gostaria de ficar sozinho com seu filho, seu irmão e Arn, e logo foi obedecido. Ao ficarem a sós, mudaram de sala e recostaram-se comodamente em almo-fadas macias e, ao lado, os seus canecos de prata cheios de água bem gelada. Arn gostaria de saber como era possível produzir essa água tão agradavelmente fria, mas não quis perguntar uma coisa sem importância, quando, sem dúvida, iam falar de coisas sérias, se bem que ele não podia prever o que fosse.
— Um homem chamado Ibrahim ibn Anaza veio uma vez até mim — começou Saladino, lenta e pensativamente. — Trouxe consigo o presente mais maravilhoso que se possa imaginar, a espada a que nós chamamos de espada do Islã, que ficou desaparecida por muito tempo. Você entende o que você fez, Arn?
— Eu conheço Ibrahim. É um amigo — respondeu Arn, cauteloso. — Ele achou que eu merecia essa espada, mas eu estava convencido ser indigno dela. Por isso, mandei a espada para você, Yussuf. E por que fiz isso não sei realmente dizer. Mas foi um momento de grande emoção e alguma coisa me fez agir assim. Fico feliz em saber que o velho Ibrahim cumpriu o meu desejo.
— Mas você não entendeu o que fez? — perguntou Saladino, em voz baixa. E Arn notou de imediato como se fez um silêncio tenso na sala.
— Achei que estava fazendo o certo — respondeu Arn. — Uma espada que é sagrada para os muçulmanos não significa muita coisa para mim, mas significaria muito mais para você, pensei. Mais do que isso não sei, não posso explicar. Talvez Deus tenha orientado a minha conduta.
— E foi isso que aconteceu — sorriu Saladino. — Era como se eu tivesse mandado para você aquilo a que vocês chamam de Santa Cruz, que agora se encontra em lugar seguro, aqui, entre nós, nesta casa. Estava escrito que aquele que recebesse de volta a espada do Islã iria unir todos os crentes e vencer todos os infiéis.
— Se é assim — respondeu Arn, um pouco chocado — não é a mim que você tem de agradecer, mas a Deus, que me guiou nessa resolução. Eu fui apenas o Seu instrumento.
— Que seja assim, mas eu estou lhe devendo, de qualquer maneira, uma espada, meu amigo. Não é estranho que eu, permanentemente, esteja em dívida para com você, Arn?
— Eu já recebi agora, de você, uma espada e, portanto, você não me deve mais nada, Yussuf.
— Ah, não. Se eu lhe mandasse a Santa Cruz, você não teria se sentido livre da dívida para comigo, me mandando nem o mais bonito de todos os pedaços de madeira em troca. Em relação à minha dívida, vamos falar mais tarde. Mas eu preciso agora de um favor.
— Se a minha consciência o permitir, farei qualquer favor ou serviço para você, Yussuf. E você sabe que sim. Além disso, sou seu prisioneiro e resgate por mim jamais você receberá.
— Primeiro, vamos tomar Ascalão. Depois, Gaza e, a seguir, Jerusalém. O que eu desejo é que você seja meu conselheiro, quando essas ações acontecerem. Depois disso, você terá a sua liberdade e não irá embora daqui sem ser devidamente recompensado. É isso que eu peço a você.
— Aquilo que você me pede é na verdade cruel. Yussuf, você está me pedindo para ser traidor — objetou Arn e todos puderam observar seu sofrimento.
— Não é como você pensa — respondeu Saladino, tranqüilo. — Eu não preciso da sua ajuda para matar cristãos. Para isso, eu tenho agora um número incomensurável de mãos. Mas eu me lembro de uma coisa que você disse, na nossa primeira conversa noturna, da primeira vez em que eu fiquei em dívida para com você. Você disse alguma coisa a respeito de uma regra dos templários sobre a qual tenho pensado muito: "Ao puxar pela sua espada, não pense em quem você vai matar. Pense em quem você vai poupar. "Você entende o que eu pretendo?
— Essa é uma boa regra, mas eu me sinto aliviado apenas pela metade. Não, eu não entendo direito aonde você quer chegar, Yussuf.
— Eu tenho Jerusalém aqui na minha mão! — exclamou Saladino, mantendo o seu punho fechado diante do rosto de Arn. — A cidade vai cair quando eu quiser. E eu quero que seja depois de Ascalão e Gaza. Vencer é uma coisa, mas vencer bem é outra coisa. E para saber o que é o bem e o mal, preciso falar com qualquer outra pessoa além dos meus emires, convencidos estes, como estão, de que devem fazer como os cristãos.
— Matar todas as pessoas e todos os animais da cidade, não deixando que ninguém sobreviva além das moscas — disse Arn, baixando a cabeça.
— Se fosse o contrário — raciocinou Fahkr que agora pela primeira vez se manifestava na discussão, sem que o seu irmão mais velho fizesse qualquer gesto —, se fôssemos nós que tivéssemos tomado Jerusalém uma idade e meia de homem atrás e se tivéssemos tratado a cidade como vocês fizeram, certo? Como é que vocês estariam pensando agora no seu acampamento do lado de fora da Cidade Santa, sabendo que em breve iriam conseguir tomá-la de volta?
— Uma loucura — respondeu Arn, com uma careta de repugnância. — Homens como esses dois que estão presos aí, Gérard de Ridefort e Guy de Lusignan, ao contrário do habitual, conseguiriam chegar a um acordo entre si. Ninguém iria ser contra eles, ninguém, quando clamassem que teria chegado a hora da vingança, que iriam fazer ainda pior do que o inimigo teria feito ao profanar a cidade.
— Assim raciocinamos todos nós, exceto o meu irmão Yussuf— disse Fahkr. — Será que você pode nos convencer de que ele tem razão ao considerar a vingança como um erro?
— A ansiedade de vingança é um dos sentimentos mais fortes entre os seres humanos — disse Arn, resignado. — Os muçulmanos e os cristãos são assim, talvez também os judeus. A primeira coisa que podemos dizer contra isso é que devemos atuar com mais dignidade do que o inimigo ímpio. Mas o sujeito vingativo não se importa com isso. A segunda coisa que podemos dizer é aquilo que eu já ouvi, tanto de um cristão, o conde Raymond, quanto de um muçulmano, como é Yussuf, que a guerra jamais terá fim, enquanto todos os peregrinos não tiverem acesso à Cidade Santa, inclusive os judeus. Mas também nesse caso os vingativos não se importam com isso, já que eles querem ver o sangue correr hoje e nem pensam nisso amanhã.
— Até aí pensamos nós também — concordou Saladino. — E, de fato, é como você diz, os vingativos, que são em maior número, não se importam com palavras como dignidade ou guerra eterna. Portanto, o que é que podemos dizer mais?
— Uma coisa — exclamou Arn. — Todas as cidades podem ser conquistadas, incluindo Jerusalém, o que, aliás, vai ser feito agora por vocês. Mas nem todas as cidades podem ser dominadas da mesma maneira simples como foram conquistadas. Portanto, a pergunta de vocês tem que ser a seguinte: o que faremos com a vitória? Poderemos dominar a Cidade Santa?
— Neste momento, em que os cristãos têm apenas quatro cidades o na Palestina em seu poder, das quais três serão tomadas por nós de imediato, ninguém duvida da resposta, infelizmente — reagiu Saladino. — Assim, será que existe mais alguma coisa a dizer?
— Sim, existe — insistiu Arn. — Vocês querem dominar Jerusalém por mais de um ano? A questão é saber se no próximo ano vocês querem ver aqui dez mil novos cavaleiros francos no país ou se preferem ver cem mil. Se preferirem ver cem mil cavaleiros francos daqui a um ano, então, basta fazer com a vitória aquilo que os cristãos fizeram. Matem tudo o que estiver vivo. Mas se vocês se contentarem em ter aqui dez mil francos daqui a um ano, tomem a cidade, recuperem seus lugares sagrados, defendam a igreja do Santo Sepulcro e deixem sair todos os que quiserem deixar a cidade. É simples matemática e nada mais. Cem mil francos daqui a um ano ou apenas dez mil? O que é que vocês preferem?
Os outros três ficaram em silêncio por muito tempo. Finalmente, Saladino se levantou, caminhou para Arn, puxou-o e abraçou-o. Tal como era conhecido por fazer, quando acontecia alguma coisa de sensível, de cruel ou de maravilhoso à sua volta, ele chorou. As lágrimas de Saladino eram famosas, execradas e admiradas em todo o mundo dos crentes.
— Você me salvou. Você me deu a razão de que precisava para fazer tudo do meu jeito, e com isso salvou muitas vidas em Jerusalém e talvez tenha salvado a cidade para nós para todo o sempre — disse Saladino, soluçando.
Seu irmão e seu filho se comoveram com as lágrimas dele, mas conseguiram se dominar.
Um mês mais tarde, Arn encontrava-se junto com o exército de Saladino diante dos muros de Ascalão. Envergava as suas vestes antigas, reparadas, limpas e costuradas e, tal como a sua malha de aço, em melhores condições do que antes de ele as ter perdido. Mas não estava sozinho no uso do manto de templário. Havia também o grão-mestre, Gérard de Ridefort. Ele e o rei Guy de Lusignan seguiam com o exército mais como bagagem do que como cavaleiros. Viajavam sentados e agarrados cada um no seu camelo, o melhor que podiam. Saladino achou mais seguro colocá-los em cima de um animal em que eles não sabiam cavalgar do que em cima de um cavalo. Os sarracenos se divertiram durante os cinco dias da viagem, vendo os dois caríssimos prisioneiros tentando dominar as suas dores de marcha e, ao mesmo tempo, demonstrando dignidade, embora eles se arrastassem ao lado de uma fila de camelos, logo atrás da força de cavaleiros.
Saladino tinha mandado vir uma frota de Alexandria para se encontrar com ele em Ascalão. E a frota já se encontrava ancorada, ameaçadora, diante da cidade, quando o exército sarraceno chegou por terra. Mas a frota parecia mais ameaçadora do que era. Na realidade, era uma frota de navios mercantes, com os porões vazios.
Ao assentar acampamento fora dos muros da cidade, Saladino mandou o rei Guy de Lusignan avançar até o portão fechado da cidade e gritar para que seus habitantes se entregassem, que assim o seu rei ficaria livre. De que valia uma única cidade na troca pelo próprio rei?
Uma enormidade, achavam os habitantes da cidade, o que logo se viu. As palavras do rei Guy não tiveram qualquer conseqüência a não ser a dos habitantes da cidade jogarem frutas podres e porcarias para ele, lá de cima da torre para o portão, e rindo dele, um riso de escárnio, como nenhum outro rei tinha sofrido dos seus súditos.
Saladino se divertiu imenso com o espetáculo, muito mais do que se preocupou com o resultado da intervenção. Deixou a maior parte do seu exército na área para começar os trabalhos do assalto a Ascalão pela violência e continuou para Gaza.
Em cima dos muros de Gaza, havia uns poucos templários com as suas vestes brancas, mas muito mais sargentos. Eles não se deixaram amedrontar pelo insignificante exército que levantou acampamento do lado de fora dos seus muros e também não havia razão para isso. Não havia catapultas, nem quaisquer outras máquinas para arrasar com os muros. O inimigo não trouxera nada disso.
E também não se deixaram influenciar pelo grão-mestre que fora levado até o portão da cidade. Já esperavam ser ameaçados. Ou eles desistiam ou o grão-mestre seria executado diante dos seus olhos.
Com esse tipo de ameaça, porém, eles não se deixariam derrubar. O Regulamento era absolutamente claro a respeito dessas questões. Qualquer templário estava impedido de ser trocado por ouro ou por outros prisioneiros ou usado como ameaça. A obrigação do grão-mestre era, portanto, a de morrer como templário, sem reclamar e sem mostrar medo. Além disso, poucos seriam aqueles que lamentariam, de forma especial, ver a cabeça de Gérard de Ridefort rolar na areia. Qualquer que fosse o novo escolhido para grão-mestre só poderia ser melhor do que esse idiota, o culpado da grande derrota.
Mas para seu constrangimento e indiscritível vergonha, aconteceu algo diferente. Gérard de Ridefort avançou e, como grão-mestre, deu uma ordem para que a cidade fosse esvaziada, que cada um levasse as suas armas e um cavalo consigo, mas que todo o resto, inclusive as arcas bem cheias do tesouro, fosse deixado no lugar.
O Regulamento não deixava saída quanto a recusar obediência ao grão-mestre.
Uma hora mais tarde, a cidade de Gaza tinha sido esvaziada. Arn assistiu em cima do seu cavalo à saída de todos e chorou de vergonha diante da covardia de Gérard de Ridefort.
Quando os últimos cavalos da coluna de templários saíram pelo portão da cidade, Gérard recebeu de volta o seu cavalo franco e as palavras de divertida ironia de Saladino como saudação de despedida e de votos de boa sorte. Gérard nada respondeu, virou o seu cavalo e disparou na direção dos seus templários que, lentamente e de cabeça baixa, como num funeral, se dirigiam para o norte, pela praia. Sem chamar pelo nome nenhum dos seus templários subalternos, Gérard avançou pela areia e colocou-se à cabeça da coluna.
Saladino constatou, então, satisfeito, que tinha acabado de conquistar duas vitórias. Por um lado, graças a um homem sem caráter, dominou Gaza com as suas arcas cheias de ouro sem disparar uma única flecha. A segunda vitória veio com o fato de ele ter colocado Gérard de Ridefort novamente no comando dos restos do exército dos templários. Um homem como Gérard servia a Saladino muito mais do que a si mesmo.
Os homens de Saladino logo invadiram a cidade abandonada, mas alguns deles voltaram em seguida e se aproximaram, excitados, de Saladino, com dois cavalos que eles alegaram ser de Anaza. E iguais a esses animais, nem Saladino nem o califa de Bagdá possuíam.
Saladino disse que estava mais satisfeito com esse presente do que com todo o ouro que pudesse existir nas arcas dos templários dentro da fortaleza. Mas quando ele, inseguro, perguntou aos que estavam à sua volta se esses cavalos, encontrados entre os templários, podiam ser, realmente, de Anaza, o que parecia impossível, Arn respondeu que, de fato, eram. Esses cavalos tinham sido seus, recebidos como presente de Ibrahim ibn Anaza, na mesma hora em que ele recebeu a espada sagrada.
Saladino não hesitou e devolveu os cavalos, imediatamente, para Arn entregue, voluntariamente. Mas deixou que todos subissem a bordo da frota que esperava ao largo, para os levar a Alexandria. Havia um tráfego mercantil intenso entre Alexandria, Pisa e Gênova, de modo que seria apenas uma questão de tempo todos esses francos de Ascalão voltarem de onde vieram.
Agora faltavam apenas Tiro e Jerusalém.
Sexta-feira, 27 do mês Rajab, justo no dia em que o Profeta, que esteja em paz, subiu ao sétimo céu, do rochedo de Abraão, depois da sua maravilhosa viagem, vindo de Meca naquela noite, Saladino fez a sua entrada em Jerusalém. Segundo o calendário dos cristãos, essa sexta-feira correspondia ao dia 2 de outubro do ano de graça de 1187.
A cidade ficou impossível de defender. O único cavaleiro na cidade com alguma importância, fora das quase esfaceladas ordens de cavaleiros cristãos, era Balian dlbelin. Além dele, havia apenas mais dois cavaleiros entre os defensores e, por isso, todos os homens com mais de dezesseis anos de idade foram promovidos. Mas a defesa teria sido inconseqüente e apenas prolongado o sofrimento. Mais de dez mil refugiados dos arredores entraram de roldão na cidade, ficando atrás dos muros, uma semana antes da chegada de Saladino. Isso significou que o abastecimento da cidade, tanto de água quanto de comida, ficou impossível ao fim de algum tempo.
A cidade, porém, não foi saqueada. Nenhum dos habitantes foi morto. Dez mil dos habitantes da cidade puderam pagar pela sua liberdade, dez dinares por homem, cinco por mulher e um dinar por criança. Os que pagaram puderam levar, também, os seus pertences.
Mas vinte mil dos habitantes de Jerusalém ficaram ainda na cidade por não ter dinheiro para pagar. Também não podiam pedir dinheiro emprestado ao patriarca Heraclius ou às duas ordens espirituais de cavaleiros que, tal como Heraclius, preferiram levar consigo os pesados tesouros a salvar irmãos e irmãs da escravidão que ameaçava aqueles que não tinham como pagar pela liberdade.
Muitos dos emires de Saladino choraram de raiva quando viram o patriarca Heraclius, satisfeito por pagar os seus dez dinares, passar depois com um lastro de ouro suficiente para pagar o salvo-conduto da maioria dos restantes vinte mil cristãos.
Os homens de Saladino acharam que a sua generosidade era tão infantil quanto a ganância de Heraclius era desprezível.
Quando todos os cristãos que puderam pagar já se tinham posto a caminho de Tiro, escoltados por soldados de Saladino, a fim de que não fossem saqueados por assaltantes e beduínos no caminho, Saladino perdoou a dívida das vinte mil pessoas que se sentiam obrigadas a se submeter à escravidão, pela simples razão de não terem como pagar o resgate ou não poderem esperar qualquer assistência do patriarca e das ordens de cavalaria.
Quando os cristãos já estavam fora, muçulmanos e judeus mudaram imediatamente, ocupando o seu lugar. Os símbolos sagrados a que os cristãos chamavam de Templum Domini e Templum Salomonis foram purificados com água de rosas por vários dias, as cruzes colocadas nos pontos mais altos foram cortadas e arrastadas em triunfo pelas ruas lavadas e sem marcas de sangue, sendo a meia-lua colocada em seu lugar de novo, depois de oitenta e oito anos, sobre Al Aksa e a Mesquita do Rochedo.
A sagrada igreja do Santo Sepulcro ficou fechada por três dias, enquanto era guardada com muita atenção e se discutia o que devia ser feito com ela. Os emires de Saladino achavam quase todos que a igreja devia ser arrasada ao nível do chão. Saladino corrigiu essa opinião, dizendo que a igreja era apenas uma construção, que a cripta do sepulcro no rochedo, ainda em construção, é que era o lugar sagrado. Seria apenas um gesto vazio derrubar o edifício. Após três dias de discussão, ainda desta feita, ele viu a sua opinião ser levada adiante. A igreja do Santo Sepulcro foi reaberta e entregue a padres sírios e bizantinos. E guardada por soturnos mamelucos contra qualquer tentativa de vandalismo.
Uma semana mais tarde, Saladino podia rezar no lugar de orações mais afastado e purificado dos árabes. Era o terceiro lugar sagrado mais importante do Islã, Al Aksa. E, como sempre, ele chorou. Tinha consigo, finalmente, aquilo que, diante de Deus, havia jurado realizar, libertar a Cidade Sagrada de Al Quds.
A conquista de Jerusalém por Saladino, como negócio, foi considerada um dos mais miseráveis de toda a longa guerra da Palestina. E, por isso, ele teve de enfrentar o riso e o escárnio no seu tempo.
Mas para a posteridade, Saladino conquistou um triunfo formidável, que fez com que o seu nome ficasse imortalizado e para todo o sempre fosse o único sarraceno que os países dos francos consideraram realmente com respeito.
Arn não acompanhou Saladino na conquista de Jerusalém. Saladino liberou-o desse pecado, ainda que tenha entrado na cidade sem derramamento de sangue, tal como Arn havia aconselhado.
Arn queria agora voltar para casa, mas Saladino lhe pediu insistentemente para ficar mais algum tempo. Era uma situação muito estranha. Ao mesmo tempo que Saladino assegurava que Arn estaria livre no exato momento que escolhesse, ele não poupava esforços nas suas tentativas para convencê-lo a ficar para o ajudar.
Como todos tinham previsto, havia mais uma nova cruzada em andamento. O imperador alemão Fredrik Barbarossa estava a caminho, através da Ásia Menor, com um enorme exército. O rei da França, Philip August, e o rei da Inglaterra, Ricardo Coração-de-Leão, estavam chegando à vela, por mar.
Saladino achava que a guerra por vir seria decidida mais na mesa de negociações do que no campo de batalha. Pela sua experiência, sabia que uma quantidade tão grande de novatos francos de uma só vez traria dificuldades na hora de combater. Arn não podia dizer nada, a não ser para concordar com essa previsão. Também ficou difícil para ele contrariar Saladino quando este afirmou que ninguém estava mais preparado para negociar do que Arn, que falava a linguagem de Deus sem dificuldades e francês como se fosse a sua própria língua. E, além disso, tinha toda a confiança de Saladino e devia ter, também, a dos francos, visto que havia servido durante vinte anos como templário na Terra Santa.
Também isso era difícil de contradizer. Arn queria voltar para casa, estava com saudades que doíam em todas as suas feridas mais recentes. Mas não poderia negar que tinha uma dívida difícil de pagar para com Saladino que, mais de uma vez, havia poupado a sua vida. Sem a clemência de Saladino, ele jamais teria a chance de voltar para casa. Mas sofria por fazer parte de uma guerra que não mais lhe dizia respeito.
Entretanto, Deus se mostrou clemente para com os muçulmanos por mais de uma maneira. O imperador alemão morreu afogado num rio, antes mesmo de chegar à Terra Santa. Seu corpo foi colocado dentro de um barril com vinagre na intenção de ser sepultado no seu país, mas acabou apodrecendo e enterrado em Antioquia. Foi como se a cruzada alemã morresse com ele.
E aconteceu como Arn havia previsto. Depois da suavizada queda de Jerusalém, não vieram cem mil, mas apenas dez mil francos.
Saladino libertou o rei Guy de Lusignan sem pedir qualquer resgate. Diante da nova cruzada dos países francos, Saladino achou que precisaria de um homem como o rei Guy libertado, já que ele iria ser muito mais útil lá fora do que como prisioneiro. Nesse ponto, mais uma vez, Saladino tinha razão. A volta do rei Guy para os seus levou logo a intermináveis brigas a respeito da sucessão ao trono e das traições praticadas pelos cristãos.
Um erro, porém, Saladino cometeu, o qual ele iria lamentar por muito tempo. Quando o rei Guy comandou um exército cristão de Tiro numa marcha pela costa para tentar recuperar Acre, que tinha sido a cidade cristã mais importante depois de Jerusalém, Saladino não levou a sério essa ameaça. Quando o rei Guy começou o cerco contra Acre, Saladino mandou um exército que, por sua vez, cercou os sitiantes, ficando estes entre a cidade e o exército de Saladino. Este achou, então, que o tempo, as doenças no acampamento e a falta de comida iriam ganhar a guerra para ele de uma forma confortável, contra o medroso soberano. Se estivesse disposto a perder muitas vidas, podia ter batido o rei Guy em dois tempos, mas esse preço ele achou desnecessário pagar.
A longa demora fez com que o francês, rei Philip August, e o inglês, rei Ricardo Coração-de-Leão, pudessem desembarcar e dar apoio aos sitiados de Acre. E com isso Saladino acabou tendo que enfrentar desnecessariamente uma guerra difícil, justo aquela que ele queria tanto evitar.
Arn foi chamado para ajudar Saladino, visto que mais cedo do que se esperava, chegaria a hora das negociações. Para isso, Saladino mandou chamar e reunir aquilo que considerava um número suficiente de homens que antes havia dispensado para casa, para um merecido descanso, após uma longa série de vitórias. Saladino mandou, então, atacar e contava com mais uma vitória rápida.
Mas errou as previsões em mais de uma maneira. Era certo que os cruzados franceses e ingleses recém-chegados estavam pouco habituados ao sol e ao calor como Saladino havia previsto. E estavam, no momento, no meio do verão. Mas, acima de tudo, ao contrário do que ele pensava, os ingleses estavam habituados a enfrentar ataques de cavalaria. Na realidade, era o que eles melhor sabiam fazer.
Quando os primeiros sarracenos do exército de cavalaria avançaram pela planície contra os sitiantes francos ao redor de Acre, o céu escureceu por cima dos atacantes, sem que estes entendessem o porquê. Alguns momentos mais tarde, estavam cavalgando na mira de milhares de flechas que pareciam cair do céu como uma tempestade de granizo. E os poucos que passaram sem ser atingidos, os que iam na frente dos atacantes, não notaram que não havia mais ninguém atrás deles e tiveram de enfrentar as flechas dos arqueiros a curta distância.
Tudo terminou em menos tempo do que levava um cavalo a galopar uma distância de quatro tiros normais de flechas. A planície diante de Acre era um mar de feridos e mortos, de cavalos caídos e escoiceando ou fugindo em pânico, para um lado e para o outro, pisando e derrubando feridos que vagueavam, desesperados ou amedrontados e enlouquecidos.
Então, o próprio Ricardo Coração-de-Leão avançou à frente da sua cavalaria. Foi a sua vitória mais rápida
Arn viu com um misto de terror e de interesse tático de guerra aquilo que os arqueiros, empunhando arcos menores e maiores, puderam fazer. Esse aprendizado ele jamais iria esquecer.
Enfim, estava na hora de começar a negociar. Em primeiro lugar, a trégua necessária para reunir e sepultar todos os mortos, com vantagem para as duas partes, diante do calor que fazia. Pediram a Arn para resolver sozinho esse assunto. Ele envergava a roupagem dos templários e podia chegar junto dos ingleses sem o perigo de ser atacado.
Foi levado sem demora por soldados ingleses inebriados pela vitória para junto do rei Ricardo, que, para alívio de Arn, revelou-se francês e não inglês como suposto, e falava francês com sotaque normando.
O rei Ricardo Coração-de-Leão era ruivo, alourado, alto e de costas largas. E parecia, realmente, um rei, ao contrário de Guy de Lusignan. Pelo tamanho do machado de guerra pendurado na sua sela, do seu lado direito, era fácil perceber ser ele, também, um homem de muita força.
A primeira conversa dos dois, porém, foi curta, visto que se tratava apenas de uma coisa muito simples e clara, que era a de limpar o campo de batalha. Pediram a Arn para transmitir o desejo de Ricardo Coração-de-Leão de se encontrar com o próprio Saladino, o que ele prometeu fazer.
No dia seguinte, ao voltar com a resposta de Saladino, de que não seria a hora de qualquer encontro entre reis até que fosse para discutir a paz, mas que o filho de Saladino, Al Afdal, viria para conversar, Ricardo Coração-de-Leão ficou possesso não só contra Saladino como contra o seu negociador, e avançou para Arn com acusações desde-nhosas de traição e de amor pelos sarracenos.
Arn respondeu, dizendo que era prisioneiro de Saladino e que tinha dado a sua palavra de não renegar a missão de ser o porta-voz de Saladino perante o rei Ricardo e de ser o porta-voz deste junto de Saladino.
Só então o rei Ricardo se tranqüilizou, ainda que murmurando qualquer coisa a respeito do que ele achava de palavras de honra dadas aos infiéis.
Ao voltar com a mensagem, Saladino riu pela primeira vez desde há muito tempo e disse que a palavra de honra significava apenas que havia honra pela qual jurar e dar a sua palavra. Era uma questão muito simples. Quando liberou o rei Guy sem resgate a pagar, ele exigiu que este, em contrapartida, deixasse a Terra Santa e nunca mais levantasse uma arma contra qualquer crente. É claro que o rei Guy jurou com a mão sobre a sua Bíblia e por sua honra e perante Deus e todos os santos. E é claro, também, tal como Saladino havia previsto e até esperava que acontecesse, que ele renegou de imediato a sua palavra dada e logo voltou a ser útil dividindo os cristãos.
Mas o cerco de Saladino aos cristãos fora da cidade de Acre já não estava dando os resultados esperados, visto que a frota inglesa estava cercando a cidade pelo mar, impedindo todo abastecimento. A fome com a qual Saladino tinha contado como uma vantagem para si acabou atingindo os seus, dentro de Acre, com mais força do que aos sitiantes cristãos, fora dos muros da cidade. E novos ataques da cavalaria em campo aberto contra os arqueiros ingleses, de grande distância, não eram, sem dúvida, uma boa idéia.
Saladino estava perdendo a corrida contra o tempo. Para o seu desespero, a guarnição de Acre cedeu e entregou a cidade ao rei Ricardo.
Arn e Al Afdal receberam, então, a pesada missão de cavalgar até a cidade conquistada para saber quais as condições que os habitantes da cidade aceitaram em nome de Saladino, para desistir de continuar na luta.
A volta da missão cumprida foi muito triste. Aquilo com que o povo de Saladino tinha concordado em seu nome eram condições muito duras. Além da cidade e daquilo que dentro dela existia, o rei Ricardo exigia cem mil besantes em ouro, a liberdade de mil prisioneiros cristãos, a de cem cavaleiros prisioneiros indicados pelo nome e a Sagrada Cruz.
Não foi surpresa Saladino voltar a chorar, ao ouvir essas condições. Era um preço muito alto pelas duas mil e setecentas almas agora deixadas ao sabor da clemência do rei Ricardo. Mas os representantes de Saladino tinham concordado com essas duras exigências para salvar suas vidas. A honra exigia que Saladino cumprisse a sua parte.
De novo, Arn e Al Afdal voltaram à cidade que Al Afdal chamava de Akko; Arn, de São João do Acre; e os romanos, de Akkon. Agora as negociações começavam a ficar mais meticulosas e complicadas. Tratava-se de muitas questões práticas a respeito de prazos e lugares e de como o pagamento poderia ser dividido em diversas parcelas e quantas condições deviam ser cumpridas antes de os prisioneiros poderem ser liberados.
Devia demorar para solucionar essas questões. E, além disso, o rei Ricardo deixou que os negociadores da parte contrária esperassem bastante, visto que as celebrações da vitória incluíam, entre outras coisas, a realização de jogos para cavaleiros fora dos muros da cidade.
Quando ele, finalmente, aceitou ser perturbado, fez tudo para demonstrar o seu desprezo pelos dois negociadores que Saladino tinha mandado. Achava ser uma falta de respeito da parte daquele que viesse a interromper um torneio, a não ser que tivesse a intenção de nele participar. E, então, ele se voltou para Al Afdal, perguntando se este era covarde ou estava disposto a enfrentar com lança e a cavalo qualquer dos cavaleiros ingleses. Arn traduziu e Al Afdal respondeu, seguindo conselhos de Arn, que preferia cavalgar com o arco na mão contra quaisquer dois dos cavaleiros do rei Ricardo ao mesmo tempo, uma resposta que Ricardo fingiu não ouvir ou entender quando Arn a traduziu.
— E você, templário feito prisioneiro, é também covarde? — inquiriu o rei Ricardo, com desprezo.
— Não, Sire, eu já servi como templário durante vinte anos — reagiu Arn.
— Se eu oferecer ao seu novo senhor a condição de pagar primeiro cinqüenta mil besantes, soltando os prisioneiros de que falamos e eu soltar os meus sarracenos, antes de nós recebermos os restantes cinqüenta mil besantes e a Sagrada Cruz, você concorda em enfrentar o meu melhor cavaleiro?
— Sim, Sire, mas eu não quero feri-lo — respondeu Arn.
— Essas palavras, você vai se arrepender de as ter pronunciado, desertor, pois vou indicar como seu adversário Sir Wilfred — bufou o rei.
— Eu preciso de escudo, lança e elmo, Sire— respondeu Arn.
— Vou providenciar para que você receba isso emprestado de seus amigos templários aqui na cidade, ou talvez deva dizer ex-amigos — disse o rei.
Arn explicou um pouco apático para Al Afdal o que o infantil rei inglês tinha inventado. Objetando, Al Afdal logo falou que isso era contra as regras. Ninguém podia usar armas contra os negociadores ou a seu favor. Arn suspirou, dizendo que as regras não eram exatamente aquilo que o rei inglês mais gostava de respeitar, a não ser que fosse para sua satisfação pessoal.
Sem problemas, Arn conseguiu emprestado tudo de que precisava, de irmãos dispostos a ajudar, no acampamento dos templários. E logo se dirigiu a cavalo para o campo, diante dos muros da cidade, com o elmo e o escudo da Ordem dos Templários numa das mãos, para saudar o seu adversário. Hesitou um pouco ao ver como era jovem e inocente esse tal de Wilfred, aparentando um pouco mais de vinte anos e sem qualquer marca de lutas passadas no rosto.
Cavalgaram um na direção do outro e trotaram duas voltas no campo antes de se posicionarem frente a frente. Arn ficou aguardando, já que não conhecia as regras do jogo. O jovem inglês o chamou, então, pelo nome, falando numa língua que Arn não entendia e, por isso, pediu para ele falar na linguagem do seu soberano.
— Eu sou Sir Wilfred, cavaleiro que ganhou suas esporas no campo de batalha e que saúda seu adversário com honra — disse o jovem inglês, arrogante, num francês muito canhestro.
— Eu sou Arn de Gothia. Ganhei minhas esporas no campo de batalha, durante vinte anos, e eu o saúdo, também, meu jovem. E o que é que fazemos agora? — respondeu Arn, divertido.
— Agora, avançamos um contra o outro até que um de nós caia indefeso ou morto ou desista. Que vença o melhor! — exclamou Sir Wilfred.
— Tudo bem, mas eu não quero lhe fazer mal, meu jovem. Não basta se eu o derrubar da sela algumas vezes? — perguntou Arn.
— O senhor não ganha nada com essa conversa ultrajante, Sir Arn, antes vai lhe custar um sofrimento maior — reagiu Sir Wilfred, com um sorriso de esguelha que pareceu a Arn bem ensaiado.
— Pense bem numa coisa, meu jovem — respondeu Arn. — Você está lutando contra um templário pela primeira vez e nós nunca perdemos nesses jogos contra os de pele sensível como você.
E nada mais foi dito, pois, o jovem Sir Wilfred virou o cavalo e galopou para trás no campo, até que virou-se novamente, pegou o elmo e enfiou-o na cabeça. O elmo que ele usava era do novo tipo que cobria todo o rosto, mas só permitia a visão para a frente. Para os lados, a visão era difícil.
Arn galopou também para trás, para assumir a sua posição, mas muito mais devagar.
Ficaram por momentos um em frente do outro, a distância, sem que nada acontecesse. Como o seu adversário parecia estar com o olhar virado para o pavilhão do rei Ricardo, Arn também desviou o olhar na mesma direção. Assim que o silêncio se fez entre o público, o rei Ricardo se levantou e avançou com um grande xale vermelho que ele segurava na mão, com o braço esticado. De repente, soltou o xale e logo o jovem cavaleiro do outro lado do campo começou a galopar.
Arn montava Ibn Anaza, o que lhe dava uma vantagem tão grande que o seu adversário, galopando com estrondo num pesado gara-nhão franco, nem sequer poderia imaginar na sua mais fantástica fantasia. A luta já seria muito desigual só por esse motivo, mas o mais difícil para Arn era não ferir o seu adversário, a não ser com algumas manchas roxas.
A caminho, no campo, cavalgando de início no mesmo ritmo do seu adversário que se aproximava, Arn achou que a intenção do jogo era acertar a cabeça ou o escudo do contendedor para o matar ou o derrubar da sela. Pareceu ser um jogo muito perigoso e Arn não queria acertar no alvo com a ponta da lança, na velocidade máxima.
Pouco antes de se enfrentarem, Arn acelerou de repente a marcha de Ibn Anaza ao máximo e desviou-se, bem inclinado, para a esquerda, antes do contato previsto. Assim, ficou do lado errado do seu adversário e pôde jogá-lo da sela para o chão com a parte lateral da lança.
Só depois, Arn se virou completamente, preocupado, e se aproximou do jovem cavaleiro, estatelado na areia, praguejando e esperneando.
— Espero não ter machucado você. Não era essa a minha intenção — disse Arn, amistosamente. — Está decidido já?
— Não, eu não me rendo — gritou o pele sensível, zangado, pegando nas rédeas do seu cavalo e se levantando. — Tenho direito a três ataques!
Um pouco decepcionado, Arn voltou para o lugar de onde tinha partido da vez anterior, enquanto pensava que usar a mesma tática simples não iria funcionar uma segunda vez.
Por isso, devagar, mudou de mão, segurando a lança com a esquerda, com o escudo colocado em cima do antebraço esquerdo de modo que não pudesse ser visto antes de chegarem muito próximo um do outro e aí já seria tarde demais.
De novo, o rei soltou o xale vermelho e de novo o jovem inglês partiu em disparada, na velocidade máxima que o seu garanhão permitia. Em matéria de coragem, não havia nada de errado com ele.
Desta vez, Arn não mudou de lado no ataque. Mas justo antes do choque levantou o braço de forma que o escudo aparasse de esguelha o golpe da ponta da lança do adversário e resvalasse, e enquanto isso, ele segurava a sua lança também com a mão direita. A ponta da lança de Sir Wilfred resvalou mesmo contra o escudo inclinado de Arn e no momento seguinte o inglês recebia no peito o impacto como de um remo, só que desta vez com muito mais força do que na vez anterior e o resultado foi o mesmo, só que desta feita Sir Wilfred voou da sela por mais tempo antes de se estatelar de novo na areia.
Mas ainda desta vez ele não quis se render.
Da terceira vez, Arn resolveu jogar fora o escudo e segurar a lança ao contrário, para usá-la como um porrete. E cavalgou em frente com o porrete abaixado até o último momento quando, então, o levantou com as duas mãos, fazendo saltar e desviar a lança adversária, enquanto o seu porrete gigantesco voltava do movimento anterior, para desviar a lança do outro, o atingiu em cheio no rosto. O elmo salvou-o de sair dali morto, mas não evitou que o jovem caísse mais uma vez do cavalo, mais ou menos do mesmo jeito que das duas vezes anteriores.
Depois de se assegurar que o adversário não estava muito ferido, Arn tirou da cabeça o seu elmo aberto e avançou a trote na direção do rei Ricardo, diante de quem fez uma vênia ironicamente exagerada.
— Sire, seu jovem Wilfred é digno de todo o respeito por sua coragem — disse em seguida. — Nem todos os jovens avançam contra um templário sem sentir medo.
— Suas artimanhas são estranhas, mas não seguem exatamente as nossas regras — respondeu o rei, mal-humorado.
— As minhas regras são as do campo de batalha, não as do campo de jogos, Sire. Além disso, falei que não queria ferir o seu cavaleiro. A coragem e a bravura dele, certamente, lhe vão dar muitas alegrias, Sire.
Dessa, segundo Arn, brincadeira infantil, surgiram duas conseqüências. A primeira e, no momento, a mais importante foi a de que o rei Ricardo recuou nas condições impostas para Saladino pagar.
A segunda conseqüência foi a de que o jovem cavaleiro de nome Wilfred de Ivanhoé, que estava participando da sua primeira guerra, pelo resto da sua vida sempre levou a melhor contra todos os adversários, - quer nos torneios, quer nos campos de batalha, exceto contra templários. Com os templários, costumava ter muitas vezes pesadelos.
Quando voltou ao alojamento dos templários para deixar as armas emprestadas, Arn foi convidado para comer e beber com o novo Mestre de São João do Acre, que ele conhecia de há muito quando estiveram juntos por pouco tempo na fortaleza La Fève. Seu irmão tinha várias reclamações a fazer contra o rei inglês, principalmente a de o homem ser sempre hostil para com todos os semelhantes. Ele despejou o rei Philip August, da França, do alojamento dos templários que eram as melhores instalações depois do palácio real — onde, evidentemente, se instalou o próprio rei Ricardo —, na cidade de São João do Acre. Os dois começaram a brigar sobre essa bagatela a tal ponto que o rei francês resolveu voltar para o seu país com todos os seus homens. E o grão-duque austríaco, o rei Ricardo, insultou de outra maneira, ao mandar retirar a bandeira austríaca, pendurada entre a inglesa e a francesa, de cima dos muros do castelo, rasgando-a e jogando no fosso. Diversos embates ocorreram entre ingleses e austríacos, e estes, agora, estavam indo embora. Com essas infantilidades, os cristãos haviam perdido metade da sua força, mas o rei Ricardo estava convencido de que bastavam ele e os seus homens junto com os templários para reconquistar Jerusalém. Era uma tática tão perigosa quanto irresponsável, mas, a esse respeito, aqueles como Arn e seu velho amigo, que durante tanto tempo guerrearam contra Saladino, sabiam melhor. Apenas essa manobra de transferir todos esses arqueiros a pé, sob sol escaldante, até Jerusalém, seria um sofrimento, agravado quando fossem atacados pelos arqueiros sírios montados de Saladino.
Uma coisa, no entanto, seria ainda pior. O rei Ricardo não era apenas um homem temperamental sempre pronto a brigar desnecessariamente. Era um homem em cuja palavra não se podia confiar.
Saladino honrou o acordo tal como negociado. Em dez dias, entregou cinqüenta mil besantes em ouro e liberou mil prisioneiros cristãos. Mas nenhum dos prisioneiros indicados pelo nome, que estavam espalhados um pouco por toda parte, nas prisões dos fortes sírios e egípcios.
Como nenhum dos cem prisioneiros indicados pelo nome tinha sido entregue, o rei Ricardo considerou que Saladino havia rompido o acordo.
Por isso, mandou primeiro cercar um monte perto de Acre, chamado Ayyadieh, com arqueiros comuns e de longa distância. Depois, mandou deslocar para lá todos os dois mil e setecentos prisioneiros da cidade de Acre, os homens a ferros, as crianças e mulheres ao lado dos seus homens e pais.
Os muçulmanos mal podiam acreditar no que viram depois e mal puderam ver por causa das lágrimas. Todos os dois mil e setecentos prisioneiros que deveriam ser libertados naquele dia foram decapitados, mortos com flechas ou a golpes de machado de guerra.
Logo os cavaleiros sarracenos atacaram por todos os lados, em completa desordem, chorando, enlouquecidos. Foram contra-atacados por nuvens de flechas e nenhum deles chegou vivo ao alvo do ataque. O genocídio continuou durante muitas horas, até que as últimas crianças foram encontradas e também decapitadas.
No monte Ayyadieh, finalmente, ficaram apenas os ingleses, saqueadores de defuntos, que seguiam de corpo em corpo, abrindo até as entranhas à procura de alguma moeda de ouro engolida.
Saladino já tinha deixado há muito o monte de onde tinha assistido ao começo da mortandade.
Afastou-se um pouco da sua tenda e sentou-se. Ninguém dos seus ousou perturbá-lo, mas Arn veio, lentamente, até ele.
— É um momento difícil, Yussuf, eu sei disso, mas gostaria de receber de volta minha liberdade agora — disse Arn, em voz baixa, sentando-se ao lado de Saladino, que demorou a responder.
— Por que você quer me deixar justo neste momento difícil, neste dia de grande tristeza que será lembrado para sempre? — perguntou finalmente Saladino, enxugando as lágrimas.
— Porque você venceu Ricardo Coração-de-Leão neste dia, ainda que por um preço muito alto.
— Venci — resmungou Saladino. — Perdi cinqüenta mil besan-tes em ouro, apenas para ver aqueles cuja liberdade eu comprei serem massacrados. Na realidade, seria a mais estranha das minhas vitórias.
— Claro, é uma perda difícil — disse Arn. — Mas a vitória está no fato de você não ter perdido Jerusalém para esse idiota. Ele entrará para a história como o autor da matança de Ayyadieh e aquele que desperdiçou a oportunidade de conseguir a Sagrada Cruz de volta. Só desse jeito ele será lembrado pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Será lembrado como traidor sem palavra. É isso. Ele prejudicou mais a própria causa do que a sua. O rei francês já voltou para o seu país depois de uma discussão infantil a respeito de onde cada um devia morar na cidade de Acre. O rei austríaco também o deixou por razões semelhantes. E o imperador alemão está apodrecendo na cova em Antioquia. Você que já não tinha cem mil inimigos com que se defrontar, agora tem menos de dez mil, sob o comando desse louco chamado Ricardo. Aliás, até ele deverá voltar para o seu país em breve, pois, se não fizer isso, o irmão se apossará do trono. Por isso, acho que, dessa maneira, você venceu, Yussuf.
— Mas por que me deixar agora neste momento difícil em que a tristeza tem de ser muito maior do que a esperança numa vingança bem-sucedida, meu amigo Arn?
— Pela simples razão de que não posso negociar nada em seu nome. Terminaram as negociações com aquele matador louco. E quero voltar para casa, para junto dos meus, para o meu país, para o meu idioma e a minha gente.
— O que é que você vai fazer quando chegar lá, pelo seu país e pela sua gente?
— A guerra terminou para mim. Esta é a única certeza que tenho. Guardo a esperança de poder cumprir o juramento que fiz há muito tempo, um juramento de amor. Mas o que eu gostaria de saber agora é o significado de tudo, o que eu vim fazer aqui, qual foi a intenção de Deus. Me bati, durante vinte anos, pelo lado dos perdedores. E foi justo, porque Deus nos puniu por nossos pecados.
— Você está pensando em Heraclius, Agnes de Courtenay, Guy de Lusignan e em outros como eles? — murmurou Saladino, com uma vaga sugestão de sorriso irônico no meio de tanta tristeza.
— Isso mesmo, por eles — respondeu Am. — Por eles, eu me bati. E o que Deus quis dizer com isso, eu jamais poderei entender.
— Mas eu posso — interrompeu Saladino. — E já falarei sobre isso daqui a pouco. Primeiro, outra coisa. Você está livre. Você pediu apenas cinqüenta mil besantes em ouro pela liberdade de meu irmão quando ele foi seu prisioneiro, embora sabendo que podia pressionar pelo dobro. Acho que é por intenção de Deus que eu estou, neste momento, com essa soma em mãos que devia ser paga ao assassino Ricardo. Esse dinheiro passa agora a ser seu e é também uma recompensa pequena pela espada que você me deu. Aliás, há uma espada esperando por você em Damasco, que sem dúvida combina com você em mais de uma maneira. Agora, por favor, peço-lhe que me deixe sozinho com a minha tristeza. Viaje na paz de Deus, meu amigo Al Ghouti, que eu jamais esquecerei.
— Mas e a intenção? Você disse saber qual foi a intenção de Deus — objetou Arn, não querendo seguir sua viagem e mais preocupado com essa questão do que com a fortuna que Saladino acabava de deixar nas suas mãos.
— A intenção de Deus? — relembrou Saladino. — Como muçulmano, posso dizer que a intenção de Deus foi a de que você, um templário entre tantos, me desse a sagrada espada do Islã, que fez com que eu vencesse. Mas, como cristão, você poderá dizer para si mesmo outra coisa, o que você me disse como sendo a razão pela qual nós não faríamos com os habitantes de Jerusalém aquilo que Ricardo acabou de fazer com os habitantes de Acre. Foi um conselho que caiu fundo no meu coração. E, por isso, aconteceu como você me aconselhou. As suas palavras salvaram cinqüenta mil vidas cristãs.
Essa foi a intenção de Deus ao mandá-lo para a Palestina. Ele vê tudo, ouve tudo e sabia o que estava fazendo quando nos juntou aqui, a você e a mim.
Arn levantou-se e permaneceu em pé, hesitante e em silêncio, por algum tempo. Em seguida, Saladino também se levantou. Eles se abraçaram, então, pela última vez. Arn virou e seguiu em frente sem dizer mais nada.
A sua longa viagem para casa, para o país onde pensava jamais levantar novamente uma arma, tinha começado.
Jan Guillou
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















