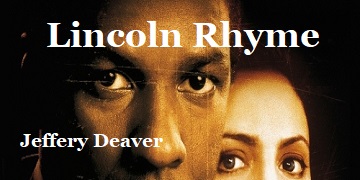
Um novo serial killer espreita pelas ruas de Nova York com sua mente doentia e perturbada.
Conhecido como O Colecionador de Peles, ele é um tatuador que arrasta as vítimas para o subterrâneo da cidade, onde pode realizar sua arte sem ser interrompido. O problema é que, para criar suas obras-primas, em vez de tinta, ele desenha com venenos letais, causando mortes lentas e dolorosas.
Convocados para a investigação, o detetive Lincoln Rhyme e sua parceira Amelia Sachs têm apenas as mensagens criptografadas gravadas na pele das vítimas como ponto de partida. Enquanto tenta descobrir o significado das tatuagens, a dupla segue por um caminho tortuoso em que nada é o que parece ser, e precisa correr contra o tempo para decifrar as pistas que encontram, antes que O Colecionador de Peles faça sua próxima vítima.

Mas eles tinham vendido todos os Rue du Cannes tamanhos 40 e 42 — o modelo brega de vestido floral curto com a bainha recortada e um decote generoso — e ela precisava reabastecer as araras, enchê-las para as clientes que gostam de olhar cada peça na mão. Chloe era atriz, não especialista em moda de varejo, e nova na loja. Por isso não conseguia entender por que, num novembro com cara de janeiro, estes vestidos em particular estavam vendendo tanto. Até que sua chefe explicou que, embora a loja estivesse localizada no bairro alternativo que era o SoHo, em Manhattan, os códigos de endereçamento postal das compradoras eram de Nova Jersey, Westchester e Long Island.
— E?
— Cruzeiros, Chloe. Cruzeiros.
— Ah.
Chloe Moore foi até os fundos da loja. Ali era o oposto da área de vendas e tão chique quanto um depósito. Encontrou a chave de que precisava no chaveiro que pendia de seu pulso e destrancou a porta do porão. Acendeu a luz e analisou a escada com degraus desnivelados.
Um suspiro, e começou a descida. A porta de mola se fechou automaticamente atrás dela. Não sendo uma mulher pequena, Chloe pisava nos degraus com cuidado. Ainda por cima estava com um Vera Wang falsificado nos pés. Sapatos de salto alto de um pseudoestilista e arquitetura centenária podem ser uma combinação perigosa.
O porão.
Odiava aquele lugar.
Não que tivesse medo de invasores. Só havia uma porta por onde entrar e sair — aquela pela qual acabara de passar. Mas o ambiente tinha cheiro de mofo, era úmido, frio... e com teias de aranha espalhadas por todo o lugar.
O que significava ter de lidar com esses aracnídeos clandestinos, predatórios.
E Chloe sabia que iria precisar de um rolo adesivo para tecidos a fim de remover a poeira da saia verde-escura e de sua blusa preta (Le Bordeaux e La Seine).
Ela pisou no chão de concreto desnivelado e rachado, e se deslocou para a esquerda, evitando uma teia enorme. Mas outra a pegou; uma longa cadeia de fios que grudou em seu rosto, fazendo cócegas. Depois de realizar uma dança cômica na tentativa de se livrar da maldita teia sem cair, ela prosseguiu com sua busca. Cinco minutos depois, encontrou os estoques de vestidos Rue du Cannes , que podiam até ter aparência francesa e nome francês, mas vinham em caixas rotuladas com enormes caracteres chineses.
Ao puxar com esforço as caixas da prateleira, Chloe ouviu um ruído estranho.
Ela congelou. Inclinou a cabeça.
O som não se repetiu. Mas então Chloe reparou em outro barulho.
Plim, plim, plim.
Será que havia algum vazamento ali?
Chloe descia ao porão com frequência, ainda que contra sua vontade, e nunca tinha ouvido barulho de água. Ela empilhou os vestidos franceses falsificados perto da escada e se virou para investigar. A maior parte do estoque estava nas estantes, mas algumas caixas ficavam armazenadas no chão. Um vazamento seria um desastre. E ainda que, sim, o destino de Chloe fosse eventualmente a Broadway, ela precisava manter seu emprego na Chez Nord pelo futuro próximo. Interromper um vazamento antes que ele causasse estragos em dez mil dólares de mercadorias superfaturadas seria fundamental para garantir que o salário continuasse pingando em sua conta no banco.
Chloe foi até o fundo do porão, determinada a encontrar o vazamento, mas ainda em modo de alerta máximo contra aranhas.
O ruído do gotejo aumentava conforme ela se deslocava em direção ao fim do cômodo, ainda mais escuro que a entrada, perto da escada.
Chloe deu um passo por trás de uma estante contendo uma grande quantidade de blusas tão feias que nem sua mãe as usaria — uma encomenda das grandes efetuada por um comprador que, na opinião de Chloe, só havia feito o pedido porque sabia que seria demitido.
Plim, plim...
Apertou os olhos.
Estranho. O que era aquilo? Na parede oposta havia uma portinhola aberta. O barulho de água vinha dali. Pintada de cinza, como as paredes, a porta tinha aproximadamente um metro de altura por um metro e meio de largura.
O que haveria atrás dessa porta? Será que havia um subporão? Chloe nunca havia reparado nela, mas, pensando bem, não se lembrava de jamais ter olhado para a parede atrás da última estante. Nunca houvera motivo para isso.
E por que estava aberta? A prefeitura sempre realizava reparos, principalmente nas regiões mais antigas, como ali no SoHo. Mas ninguém havia avisado aos funcionários da loja — pelo menos não a ela — sobre um reparo sendo realizado embaixo do prédio.
Talvez aquele esquisito zelador polonês ou romeno ou russo estivesse consertando alguma coisa ali. Mas, não, não podia ser. A gerente não confiava nele, não o deixava usar a chave da porta do porão.
É, aquilo estava ficando cada vez mais sinistro.
Não perca tempo tentando arrumar explicações. Conte a Marge sobre a goteira. Fale para ela sobre a passagem aberta. Chame aqui o Vlad ou o Mikhail ou seja lá qual for o nome do sujeito e deixe que ele faça o trabalho para o qual foi contratado.
Outro barulho. Dessa vez parecia ser um pé mudando de posição sobre o concreto arenoso.
Merda. Ok, agora chega. Cai. Fora.
Mas antes de ela conseguir fugir ou fazer qualquer movimento de fuga, ele a alcançou por trás e bateu sua cabeça na parede. Pressionou um pano na boca para amordaçá-la. Ela quase desmaiou com o susto. Uma onda de dor aflorou em seu pescoço.
Chloe virou rápido para encará-lo.
Deus, Deus...
Quase vomitou ao ver a máscara de látex amarelada cobrindo toda a cabeça, com buracos para os olhos, boca e orelhas, apertada a ponto de distorcer a carne por baixo dela, como se o rosto tivesse derretido. O homem usava um macacão com um logotipo que ela não conseguiu identificar.
Chorando, balançando a cabeça, Chloe implorava, mesmo amordaçada, gritando através do pano que ele mantinha pressionado com a mão dentro de uma luva tão apertada e de cor tão amarelada quanto a máscara.
— Me deixa falar, por favor! Não faz isso! Você não entende! Me deixa falar... — Mas as palavras saíam como sons indistinguíveis abafados pelo tecido.
Pensando: por que eu não coloquei um calço para manter a porta aberta? Cheguei a pensar nisso..., lamentou, furiosa consigo mesma.
Seu olhar calmo a examinou — mas não seios, lábios, quadris ou pernas.
Apenas a pele do braço nu, a garganta e o pescoço, onde se deteve na pequena tatuagem de uma tulipa azul.
— Nada mau, nada bom — sussurrou ele.
Ela chorava, tremia e gemia.
— O que, o que, o que você quer?
Mas por que se dar ao trabalho de perguntar? Ela sabia. É claro que sabia.
E, com esse pensamento, Chloe controlou o medo. Seu coração bateu mais forte.
Ok, seu babaca, quer brincar? Você vai pagar por isso.
Ela amoleceu o corpo. Os olhos do homem, emoldurados pelo látex amarelo como pele adoentada, pareceram confusos. O agressor, que aparentemente não esperava pelo colapso do corpo de Chloe, teve de ajeitar o modo como a segurava para evitar que caísse.
Assim que sentiu as mãos do homem afrouxarem, Chloe se jogou para a frente e agarrou a gola do macacão. O zíper se rompeu e o tecido rasgou, tanto a parte exterior quanto o que estava por baixo.
A forma como o segurava e os golpes que desferia em direção ao peito e ao rosto do homem eram violentos. Ela levantou o joelho para acertá-lo na virilha. Mais uma e outra vez.
Só que não o atingia em cheio. Estava sem pontaria. Parecia um alvo tão fácil, mas ela se sentia repentinamente descoordenada, tonta. Ele a sufocava com a mordaça — talvez fosse isso. Ou consequência do susto.
Continue, pensou enfurecida. Não pare. Ele está com medo. Dá para ver.
Covarde de merda...
E tentou atingi-lo novamente, unhar sua carne, mas percebeu que sua energia se exauria rapidamente. Suas mãos batiam nele sem força. Sua cabeça pendeu para baixo e, olhando nessa direção, ela notou que a manga do agressor havia subido um pouco. Chloe teve o vislumbre de uma estranha tatuagem, em vermelho, um tipo de inseto com dezenas de pequenas pernas e presas, mas com olhos humanos. Então voltou sua atenção para o chão do porão. O brilho de uma seringa hipodérmica. Era essa a origem da dor no pescoço e de sua força diminuída. Ele injetara alguma substância nela.
Qualquer que fosse a droga, estava surtindo efeito rápido. Chloe se sentia exausta. Sua consciência oscilava, como se ela mergulhasse num sonho e saísse dele, e, por algum motivo, viu-se obcecada pelo perfume de quinta categoria vendido no caixa do Chez Nord.
Quem compraria aquela porcaria? Por que não...?
O que eu estou fazendo?, pensou ela quando a clareza retornou. Lute!
Lute contra o filho da puta!
Mas suas mãos estavam ao lado do corpo agora, completamente imóveis, e a cabeça pesada como uma pedra.
De repente estava sentada no chão e então o quarto inclinou e começou a se mover. Ele a arrastava para a portinhola.
Não, aí não, por favor!
Me deixa falar! Eu posso explicar por que você não deve fazer isso. Para lá não! Me deixa falar!
Ali no porão ainda havia, pelo menos, alguma esperança de que Marge olharia pela escada, veria ambos e então gritaria, forçando o agressor a sair correndo com suas pernas de inseto. Mas assim que Chloe atingisse as profundezas daquele ninho subterrâneo, seria tarde demais. O quarto escurecia, mas um tipo estranho de escuridão, como se as lâmpadas do teto, que permaneciam acesas, não mais emitissem luz, mas sugassem os raios e os extinguissem.
Lute!
Mas ela não conseguia.
Mais perto do abismo negro.
Plim, plim, plim...
Grite!
Gritou.
Mas nenhum som saiu de sua boca além de um chiado, um cricrilar de grilo, um zumbido de besouro.
Ele já a arrastava pela porta até o País das Maravilhas, do outro lado.
Como naquele filme. Ou desenho. Ou seja lá o que fosse.
Ela viu que havia uma pequena despensa lá embaixo.
Chloe sentiu como se estivesse caindo sem parar e, pouco depois, estava jogada no chão, na terra, na sujeira, tentando respirar, todo o fôlego expelido de seus pulmões com o impacto. Mas não sentia dor, dor nenhuma. O barulho de goteira estava mais alto, e ela viu um líquido escorrendo na parede oposta, uma parede de pedra antiga e enlaçada por canos e fios, enferrujada, desgastada e podre.
Plim, plim...
O que escorria era veneno de inseto, era o sangue vivo de um inseto.
Pensando, Alice, sou Alice. Descendo pela toca do coelho. A lagarta fumando narguilé, a Lebre de Março, a Rainha Vermelha, o inseto vermelho no braço dele.
Ela nunca tinha gostado daquela porcaria de história!
Chloe desistiu de gritar. Queria apenas rastejar para longe dali, chorar e se encolher, ser deixada em paz. Mas não conseguia se mexer. Estava deitada de barriga para cima, olhando para a luz fraca vinda do porão da loja em que ela detestava trabalhar; a loja para onde ela gostaria desesperadamente de voltar agora, ficar parada com dor no pé e concordar com a cabeça com um sorriso falso no rosto.
Não, não, esse vestido deixa você tããão magra. Sério...
Então a luz se enfraqueceu ainda mais quando seu agressor, o inseto de cara amarelada, entrou no buraco, fechou a portinhola atrás de si e desceu a curta escada, indo até ela. Um instante depois, uma luz forte invadiu o túnel; ele havia colocado uma lanterna de cabeça, de mineração, e a acendido. O feixe branco de luz a cegou e ela gritou, ou não, por causa do brilho fortíssimo.
O qual, de repente, se apagou e deu lugar à escuridão.
Ela acordou alguns segundos ou minutos ou um ano depois.
Chloe estava em outro lugar agora, não mais na despensa, mas num quarto maior, não, um túnel. Difícil de saber, uma vez que a única iluminação vinha de uma luz fraca acima dela e do foco de luz da lanterna presa na testa do homem-inseto mascarado. Aquela luz a cegava cada vez que ele olhava para seu rosto. Chloe estava deitada de barriga para cima novamente, olhando para o alto, e ele estava ajoelhado sobre ela.
Mas aquilo que ela antecipava, temia, não estava acontecendo. De certa forma, entretanto, isso era ainda pior, porque aquilo — rasgar suas roupas e em seguida consumar o ato — pelo menos teria sido algo compreensível.
Entraria numa categoria conhecida de terror.
Isto era diferente.
Sim, sua blusa estava levantada, mas só um pouco, expondo a barriga do umbigo até a parte de baixo do sutiã, que permanecia decentemente no lugar. A saia estava bem presa nas pernas, quase como se ele não quisesse ali qualquer coisa que indicasse imoralidade.
Inclinado para a frente, curvado, determinado, ele examinava a pele alva e macia da barriga de Chloe com um olhar plácido, da mesma maneira que alguém observaria uma pintura no MoMA: a cabeça inclinada para o lado, buscando o ângulo perfeito para apreciar os respingos de tinta de Jackson Pollock, a maçã-verde de Magritte.
Então, lentamente, ele esticou o dedo indicador e acariciou a pele de Chloe. Aquele dedo amarelo. Espalmou a mão e a acariciou. Beliscou-a e ergueu um pouco da pele entre o polegar e o indicador. Soltou e observou tudo voltar ao estado de repouso.
Sua boca de inseto formou um leve sorriso.
Ela pensou tê-lo ouvido dizer: “Muito bom.” Ou talvez fosse a lagarta fumante falando, ou o inseto tatuado no braço dele.
Chloe ouviu um leve zumbido de vibração e o homem olhou para o relógio. Outro zumbido, de outro lugar. Então ele olhou para o rosto dela e viu seus olhos. Pareceu surpreso em vê-la acordada, talvez. Virando-se, puxou uma mochila e de lá tirou uma seringa hipodérmica cheia. Aplicou nela outra injeção, desta vez em uma veia do braço.
O calor fluiu por seu corpo, e o medo diminuiu. Conforme a escuridão a envolvia gradualmente e os sons desapareciam, ela viu aqueles dedos amarelos de lagarta, aquelas garras de inseto, entrarem na mochila mais uma vez e cuidadosamente retirarem de lá uma caixinha. Ele a colocou ao lado da pele exposta de Chloe com a mesma reverência que ela se lembrava de ter visto no padre ao colocar o cálice de prata contendo o sangue de Cristo no altar, domingo passado, durante a comunhão.
Billy Haven desligou sua máquina de tatuagem American Eagle para economizar bateria.
Afastou-se, agachado. Observou o trabalho feito até então.
Olhos examinando.
As condições não eram ideais, mas o desenho era bom.
Sempre se deve dar o melhor na hora de tatuar. Desde uma simples cruz no ombro de uma garçonete até uma bandeira dos Estados Unidos desenhada no peito de um mestre de obras, com múltiplas dobras e três cores, balançando ao sabor do vento, deve-se tatuar com a mesma dedicação com que Michelangelo pintou o teto da capela. Deus e Adão, a pele dos dois dedos se tocando.
Agora, neste caso, Billy poderia ter feito o trabalho com pressa.
Considerando as circunstâncias, ninguém o teria culpado.
Mas não. O decalque tinha de ser uma Mod do Billy. Como costumavam chamar na sua loja.
Billy sentiu uma coceira, o suor.
Levantou a máscara protetora e, com a mão enluvada, secou o suor dos olhos e colocou o lenço de papel no bolso. Com cuidado, para que nenhuma fibra se soltasse. Fibras incriminadoras que poderiam ser tão nocivas para ele como a tinta era para Chloe.
O protetor facial era incômodo. Mas necessário. Seu professor de tatuagem havia lhe ensinado esta lição. Tinha feito Billy usar um desses antes mesmo que o menino pegasse numa máquina de tatuagem pela primeira vez. Billy, como a maioria dos jovens aprendizes, protestou: já tenho a proteção para os olhos. Não preciso de mais. Isso pegava mal. Usar uma máscara idiota era como dar à pessoa que se submete a uma tatuagem pela primeira vez uma bola antiestresse para apertar.
Faz logo a tatuagem. Deixa de bobagem.
Mas, em seguida, o professor fez Billy se sentar ao seu lado enquanto tatuava um cliente. Um pequeno desenho: o rosto de Ozzy Osbourne. Sabe-se lá por quê.
Nossa, a quantidade de sangue que respingava! O protetor facial ficou tão salpicado quanto o para-brisa de uma picape atravessando um lamaçal.
— Seja esperto, Billy. Não se esqueça disso.
— Tudo bem.
Desde então, ele partia do pressuposto de que todo cliente estava infectado com hepatite B e C, HIV e qualquer outra doença sexualmente transmissível que estivesse na moda.
E com relação às tatuagens que ele faria ao longo dos próximos dias, é claro que ele não queria nenhuma consequência indesejada.
Portanto, proteção.
E usava a máscara de látex e a touca também para se certificar de que não deixaria no local qualquer fio de seus abundantes cabelos nem células epidérmicas. Também para distorcer suas feições. Havia a remota possibilidade de que, apesar de sua cuidadosa seleção de zonas isoladas para matar, fosse identificado por alguém.
Billy Haven agora examinava de novo sua vítima.
Chloe.
Ele tinha visto o nome escrito na etiqueta no peito dela e o presunçoso Je m’appelle que o precedia. Seja lá o que isso significasse. Talvez “olá”.
Talvez “bom dia”. Francês. Ele baixou a mão enluvada — duplamente enluvada — e acariciou a pele de Chloe, beliscando, esticando, observando a elasticidade, a textura, a delicada flexibilidade.
Billy observou também o tênue volume no vão de suas pernas, por baixo da saia verde-musgo. A linha inferior do sutiã. Mas não havia nenhuma possibilidade de se comportar mal. Ele nunca tocara um cliente em qualquer região na qual não devesse encostar.
Aquilo era a carne. Isso era a pele. Duas coisas completamente diferentes, e era a pele que Billy Haven amava.
Ele limpou mais suor com um novo lenço de papel, guardou-o novamente com cuidado. Estava com calor, sua pele formigava. Embora fosse novembro, o túnel estava abafado. Extenso — cerca de noventa metros —, mas fechado em ambas as extremidades, o que significava que não tinha ventilação. Era como muitas das passagens subterrâneas ali no SoHo, ao sul de Greenwich Village. Construídos nos séculos XIX e XX, esses túneis entrecortavam o bairro e tinham sido usados para o transporte de mercadorias entre fábricas, armazéns e estações de transferência.
Agora abandonados, eram perfeitos para os propósitos de Billy.
O alarme do relógio em seu pulso direito soou novamente. Um som semelhante, vindo de um relógio reserva em seu bolso, soou alguns segundos depois. Lembrando-o da hora; Billy muitas vezes perdia a noção do tempo enquanto tatuava.
Só me deixa terminar de desenhar perfeitamente o punho de Deus, só mais um minuto...
Um ruído veio de um fone em seu ouvido esquerdo. Ficou escutando o barulho por um instante e depois o ignorou, pegando a máquina American Eagle mais uma vez. Era um modelo antigo, com uma cabeça rotativa, que movia a agulha como uma máquina de costura, diferente de dispositivos modernos que usavam uma bobina de vibração.
Ligou-a.
Bz...
Protetor facial posicionado.
Milímetro por milímetro, ele tatuou com uma agulha de traço, seguindo a bloodline que havia desenhado rapidamente. Billy era um artista nato, brilhante com lápis e tinta, brilhante com giz pastel. Brilhante com agulhas.
Desenhava no papel à mão livre, desenhava na pele à mão livre. A maioria dos tatuadores, apesar de talentosos, utilizava estênceis, preparados com antecedência ou — para os sem talento — comprados e em seguida aplicados sobre a pele para que o tatuador preenchesse o desenho. Billy raramente fazia isso. Não precisava. Da mente de Deus direto para a sua mão, dizia seu tio.
Agora era hora de preencher. Ele trocou de agulha. Com muito, muito cuidado.
Para a tatuagem de Chloe, Billy estava usando a famosa fonte Blackletter, mais conhecida como escrita gótica ou escolástica. Era caracterizada por apresentar pinceladas grossas e outras muito finas. A família de fonte em particular que ele usou foi a Fraktur. Tinha escolhido essa tipografia porque foi usada para escrever a Bíblia de Gutenberg — e porque era um desafio. Billy era um artista, e que artista não gosta de mostrar suas habilidades?
Dez minutos depois, já havia quase terminado.
E como sua cliente estava? Ele examinou seu corpo e então levantou suas pálpebras. Olhos ainda sem foco. No entanto, seu rosto se contraiu algumas vezes. O propofol não duraria por muito tempo. Mas é claro, a essa altura, uma droga já substituía a outra.
De repente, sentiu uma dor em seu peito. Isso o alarmou. Ele era jovem e estava em muito boa forma; descartou a possibilidade de um ataque cardíaco. Mas restava a grande questão: será que tinha inalado algo que não devia?
Essa era uma verdadeira, e letal, possibilidade.
Em seguida, examinou o próprio corpo e percebeu que a dor era superficial. Então entendeu. Quando ele a havia agarrado pela primeira vez, Chloe relutara. Ele estava tão exaltado que não percebera a força com a qual ela o acertara. Mas agora a adrenalina tinha passado e seu corpo latejava de dor. Billy olhou para baixo. Não havia causado nenhum dano grave, com exceção de um rasgo em sua camisa e no macacão.
Ele ignorou a dor e continuou.
Então notou que a respiração de Chloe estava mais profunda. O efeito do anestésico logo passaria. Ele a tocou no peito — a Garota Amável não teria se importado — e sob a mão podia sentir o coração batendo mais forte.
Então foi tomado por um pensamento: como seria tatuar um coração vivo e pulsante? Daria para fazer isso? Billy tinha invadido uma empresa de suprimentos médicos um mês antes, já antecipando seus planos em Nova York. Fugira com equipamentos, medicamentos, produtos químicos e outros materiais, totalizando milhares de dólares. Perguntou-se se poderia aprender o suficiente para dopar alguém, abrir-lhe o peito, tatuar um desenho ou palavras no próprio coração e costurar a vítima de novo.
Vivendo assim com o órgão modificado.
Qual seria o desenho?
Uma cruz.
As palavras: A Lei da Pele
Talvez:
Billy + Garota Adorável Para Sempre
Uma ideia interessante. Mas pensar na Garota Adorável o deixou triste, e ele voltou sua atenção para Chloe, finalizando a última letra.
Bom.
Uma Mod do Billy.
Mas ainda não havia terminado tudo. Ele retirou um bisturi de dentro de um estojo de escova de dentes verde-escuro e se inclinou, esticando a maravilhosa pele mais uma vez.
Pode-se encarar a morte de duas maneiras.
Na ciência forense, um investigador examina a morte de forma abstrata, considera-a meramente um acontecimento que dá origem a uma série de incumbências. Bons policiais forenses enxergam esse episódio como algo do passado; os melhores veem a morte como ficção, e a vítima como alguém que jamais existiu.
O distanciamento é uma ferramenta necessária para o trabalho numa cena de crime, assim como luvas de látex e luz negra.
Sentado na cadeira de rodas motorizada da Merits vermelho-acinzentada, em frente à janela de sua casa geminada no Central Park West, Lincoln Rhyme por acaso estava pensando em uma morte recente com esse tipo de distanciamento. Na semana anterior, um homem havia sido assassinado no centro da cidade, durante um assalto que deu errado. Logo depois de sair de seu escritório no Departamento de Proteção Ambiental, ao cair da noite, o homem tinha sido levado até um canteiro de obras abandonado do outro lado da rua. Em vez de entregar sua carteira, ele escolheu reagir e, não sendo páreo para o criminoso, foi esfaqueado até a morte.
O caso, cujo arquivo estava agora diante de Rhyme, era mundano, e as evidências esparsas, típicas de tal crime: uma arma fajuta, uma faca de cozinha serrilhada cheia de impressões digitais não registradas no banco de dados da polícia nem em nenhum outro lugar; pegadas indistintas na lama que cobria o chão naquela noite; e nenhum vestígio, lixo nem guimbas de cigarro que não tivessem mais de um dia — ou semanas — de quando foram descartadas. Portanto, inúteis. Ao que tudo indicava, foi um crime aleatório; não houve pistas que indicassem prováveis autores. Os policiais tinham interrogado colegas de trabalho da vítima no Departamento de Obras Públicas e conversado com amigos e familiares. O crime não tinha nenhuma relação com drogas, nem com dívida de jogo, amantes ciumentas, nem cônjuges ciumentos de amantes.
Tendo em vista a quantidade insignificante de evidências, Rhyme sabia que o caso só poderia ser resolvido de uma maneira: alguém, por descuido, acabaria se gabando de ter roubado uma carteira perto da prefeitura. O ouvinte da história, preso por tráfico de drogas, violência doméstica ou furto, tentaria um acordo em troca de entregar o criminoso falastrão.
Esse crime, um assalto que deu errado, era a morte observada a distância por Lincoln Rhyme. Histórica. Fictícia.
Ponto de vista número um.
A segunda maneira de se encarar a morte é através da emoção: quando um ser humano com quem se tem uma forte ligação deixa de existir na Terra. E a outra morte na mente de Rhyme, neste dia tempestuoso e sombrio, afetava-o bastante, diferente do assassinato da vítima do ladrão de carteira.
Rhyme não era íntimo de muita gente. O que não tinha nada a ver com a sua condição física — ele era tetraplégico, quase completamente paralisado do pescoço para baixo. Não, ele nunca tinha sido uma pessoa sociável. Era uma pessoa da ciência. Uma pessoa da mente.
Ah, houve alguns amigos com os quais teve alguma intimidade, alguns parentes, amantes. Sua esposa, agora ex.
Thom, seu ajudante.
E Amelia Sachs, é claro.
Mas o segundo homem que morrera alguns dias atrás havia sido, em certo sentido, mais íntimo de Rhyme que todos os outros, e pelo seguinte motivo: ele tinha desafiado Rhyme como ninguém, obrigou-o a pensar além dos limites expansíveis por onde sua própria mente vagava, forçou-o a se antecipar, a criar estratégias e a questionar. Obrigou-o também a lutar por sua vida; o homem havia chegado muito perto de matá-lo.
O Relojoeiro foi o criminoso mais intrigante com quem Rhyme já havia deparado. Um homem que mudava de identidade com frequência, Richard Logan foi principalmente um assassino profissional, apesar de ter orquestrado uma gama vasta de crimes: de atentados terroristas a roubos.
Ele trabalhava para qualquer um que pudesse pagar seu alto preço — desde que o trabalho fosse desafiador. Que era o mesmo critério que Rhyme usava ao decidir pegar um caso como consultor forense ou não.
O Relojoeiro foi um dos poucos criminosos capazes de enganá-lo.
Embora Rhyme tenha, por fim, montado a armadilha que jogara Logan na prisão, ele ainda se ressentia por não ter conseguido evitar vários crimes bem-sucedidos. E, mesmo quando não obtinha sucesso, o Relojoeiro às vezes conseguia causar estragos. Em um caso no qual Rhyme desmantelara a tentativa de assassinato de um policial mexicano que investigava cartéis de drogas, Logan ainda assim conseguiu provocar um incidente internacional (por fim concordaram em abafar o caso e fingir que a tentativa de assassinato nunca havia acontecido).
Mas agora o Relojoeiro era passado.
Ele tinha morrido na prisão — não assassinado por um presidiário nem por suicídio, tal como Rhyme suspeitara ao ouvir a notícia. Não, a causa da morte foi inexpressiva — infarto, ainda que fulminante. O médico, com quem Rhyme conversara no dia anterior, informou que, ainda que tivessem sido capazes de salvar Logan, ele teria sofrido dano cerebral grave e permanente. Embora médicos não usem frases como “ele deu sorte de ter morrido”, essa foi a impressão que Rhyme teve ao ouvir o tom de voz do doutor.
Uma inconstante rajada de vento de novembro sacudiu as janelas da casa de Rhyme. Ele estava no salão frontal — o lugar onde ele se sentia mais confortável que em qualquer outro canto do mundo. Criado para ser uma sala de estar de estilo vitoriano, o lugar era agora um laboratório forense totalmente equipado, com mesas arrumadas para o exame de evidências, computadores e monitores de alta definição, prateleiras cheias de instrumentos, equipamentos sofisticados como exaustores de controle de partículas e gases, câmaras de revelação de impressões digitais latentes, microscópios — ópticos e eletrônicos de varredura — e a peça central: um cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa, o carro-chefe dos laboratórios forenses.
Qualquer departamento de polícia pequeno — ou mesmo de porte médio — do país invejaria aquela instalação, que havia custado milhões.
Tudo bancado pelo próprio Rhyme. O acordo que conseguira após o acidente em uma cena de crime que o deixara tetraplégico tinha lhe rendido bastante dinheiro; assim como rendiam os honorários que cobrava do Departamento de Polícia de Nova York e de outras agências governamentais que o contratavam. (Havia ofertas ocasionais de outras fontes que poderiam gerar receita, como propostas de Hollywood para séries de TV baseadas nos casos em que ele trabalhara. O homem na cadeira foi um título sugerido. Rhyme e a razão, outro. Thom traduzia a reação de seu chefe a tais convites — “Esses caras comeram merda?” — para algo como “O Sr. Rhyme me pediu que transmitisse seu apreço pelo interesse, mas ele infelizmente tem muitos compromissos no momento que o impediam de aceitar um projeto desses.”) Rhyme virou a cadeira e olhou para o relógio de bolso delicado e bonito apoiado em um suporte sobre a lareira. Um Breguet. Foi um presente do próprio Relojoeiro.
Seu sentimento de luto era complexo e refletia a dualidade das formas de encarar a morte sobre as quais meditava. Certamente havia razões analíticas — forenses — que explicavam seu sentimento de perda. Ele nunca mais seria capaz de analisar a mente do homem a seu contento.
Como o apelido sugeria, Logan era obcecado pelo tempo e por relógios — na verdade, ele fabricava relógios de pulso e de parede — e era assim que planejava seus crimes, com precisão minuciosa. Desde o momento em que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez, Rhyme havia se maravilhado com a maneira como operavam os processos cognitivos de Logan. Ele até chegara a esperar que o Relojoeiro lhe permitisse uma visita na prisão para que pudessem falar sobre os crimes engenhosos que havia planejado.
A morte de Logan também deu origem a outras preocupações práticas.
O promotor tinha oferecido uma delação premiada a Logan, uma redução da pena em troca dos nomes de contratantes e de quem tivesse trabalhado com ele; o homem obviamente possuía uma extensa rede de parceiros cujas identidades a polícia gostaria de conhecer. Havia rumores também de esquemas que estavam sendo orquestrados por Logan antes de ele ter sido preso.
Mas Logan não aceitara o acordo oferecido pela promotoria. E, mais irritante ainda, havia se declarado culpado, negando a Rhyme outra oportunidade de descobrir mais sobre quem ele era e de identificar seus familiares e associados. Rhyme tinha até planejado usar tecnologia de reconhecimento facial e agentes disfarçados para identificar aqueles que comparecessem ao julgamento de Logan.
Por fim, porém, Rhyme entendeu que não havia recebido bem a notícia da morte do criminoso por causa do segundo modo de encarar a morte: a ligação entre eles. Somos definidos e avivados por aqueles que se opõem a nós. E, quando o Relojoeiro morreu, Lincoln Rhyme morreu um pouco também.
Ele olhou para as outras duas pessoas na sala. Uma delas era o mais jovem na equipe de Rhyme, o policial de patrulha do Departamento Ron Pulaski, que guardava as evidências do caso de assalto/homicídio ocorrido perto da prefeitura.
A outra era o ajudante de Rhyme, Thom Reston, um homem magro e elegante, vestido de forma impecável como sempre. Hoje: calças marrom-escuras com uma admirável prega alinhada como o fio de uma navalha, uma camisa amarelo-clara e uma gravata em tons de verde e marrom, estampada com um macaquinho ou dois. Difícil de dizer. Rhyme dava pouca atenção à moda. Suas calças pretas e seu suéter verde de manga comprida cabiam nele e eram bons isolantes térmicos. Isso era tudo o que importava.
— Quero enviar flores — anunciou Rhyme.
— Flores? — perguntou Thom.
— Sim. Flores. Envie. As pessoas ainda fazem isso, acho. Flores que dizem Descanse em paz, mas qual a finalidade disso? O que mais fariam os mortos? De qualquer jeito é uma mensagem melhor que Boa sorte, você não acha?
— Enviar flores para... Espera aí. Você está falando de Richard Logan?
— Claro. Quem mais morreu recentemente que é digno de receber flores?
— Humm, Lincoln. “Digno de receber flores”. Isso não é algo que eu imaginaria você dizendo — comentou Pulaski.
— Flores — repetiu Rhyme impaciente. — Por que é tão difícil de entender?
— E por que você está de mau humor? — perguntou Thom.
“Um casal de idosos” seria uma forma de descrever a relação entre cuidador e paciente.
— Não estou de mau humor nada. Simplesmente quero enviar flores a uma funerária. Mas ninguém está me obedecendo. Podemos conseguir o nome da funerária no hospital que fez a necropsia. Eles vão ter de enviar o cadáver para lá. Hospitais não embalsamam nem cremam.
— Bem, Lincoln. Uma maneira de pensar no assunto é: a justiça foi feita.
Poderíamos dizer que o Relojoeiro recebeu a pena de morte, no fim das contas — declarou Pulaski.
Loiro, determinado e inquieto, Pulaski tinha potencial para ser um ótimo investigador, e Rhyme assumira o cargo de seu mentor. Que incluía não só ensinar a ele ciência forense mas também fazer com que o garoto usasse sua inteligência. Isso ele não parecia estar fazendo no momento.
— E como uma oclusão arterial aleatória significaria que a justiça foi feita, novato? Se o procurador do Estado de Nova York optou por não pedir a pena de morte, conclui-se então que uma morte prematura enfraquece a justiça. Não que a fortalece.
— Eu... — disse o jovem, gaguejando e corando feito uma cereja.
— Agora, novato, vamos deixar de lado as observações espúrias. Flores.
Descubra quando o corpo vai ser liberado do Westchester Memorial e para onde vai. Quero que as flores cheguem lá o mais rápido possível, haja velório ou não. Com um cartão meu.
— Dizendo o quê?
— Só o meu nome.
— Flores? — A voz de Amelia Sachs ecoou do corredor que dava para a cozinha e para a porta dos fundos da casa. Ela caminhou até o salão, cumprimentando os outros com a cabeça.
— Lincoln vai enviar flores para a funerária. Para Richard Logan. Quer dizer, eu vou.
Ela pendurou a jaqueta preta em um gancho no corredor. Amelia estava usando uma calça jeans preta justa, um suéter amarelo e um blazer esporte preto de lã. A única indicação de sua profissão como detetive da polícia era uma Glock presa à cintura, embora o estabelecimento da relação entre uma pessoa portando uma arma e ela ser agente da lei seja uma simples conjectura. Ao olhar para a mulher alta, esbelta e ruiva — com cabelos lisos abundantes — poderia se pensar que ela era modelo. O que de fato tinha sido, antes de ingressar na polícia.
Sachs se aproximou e deu um beijo na boca de Rhyme. Ela tinha gosto de batom e cheiro de pólvora; havia ido ao estande de tiro naquela manhã.
E por falar em cosméticos, Rhyme lembrou que a vítima do assalto/homicídio perto da prefeitura tinha feito a barba pouco antes de sair do escritório; vestígios quase imperceptíveis de creme de barbear e minúsculos fragmentos de barba foram encontrados em seu pescoço e em sua bochecha. Também havia aplicado loção pós-barba recentemente.
Durante a análise dessas evidências, enquanto Rhyme se atinha a esses fatos potencialmente úteis para o inquérito, Sachs ficara bem quieta. Em seguida, disse: — Ele iria sair naquela noite, um encontro romântico provavelmente.
Ele não se barbearia para encontrar amigos. Você sabe, Rhyme, se ele não tivesse passado aqueles últimos cinco minutos no banheiro, a ordem dos fatos mudaria. E tudo teria sido diferente. Ele sobreviveria à noite. E talvez tivesse uma vida longa e plena.
Ou ele poderia ter entrado bêbado no carro e batido num ônibus escolar cheio de crianças.
Especular sobre o destino das pessoas era uma perda de tempo.
Ponto de Vista Sobre a Morte Número Um, Ponto de Vista Sobre a Morte Número Dois.
— Você sabe qual é a funerária? — perguntou Sachs.
— Ainda não.
Sem desconfiar de que estava prestes a ser preso, e ainda acreditando que mataria Rhyme em poucos minutos, Logan prometera poupar a vida de Sachs. Talvez essa clemência tenha sido outra das razões pelas quais Rhyme lamentava a morte do homem.
Thom acenou para Sachs.
— Café? Mais alguma coisa?
— Apenas café, obrigada.
— Lincoln?
O cientista forense balançou a cabeça negativamente.
Quando o assistente voltou com a xícara, entregou-a a Sachs, que lhe agradeceu. Embora a maioria dos nervos em seu corpo tivesse perdido a sensibilidade, as papilas gustativas de Rhyme funcionavam muito bem, e ele apreciava o fato de Thom Reston fazer um café delicioso. Nada de cápsulas nem de grãos pré-moídos, e a palavra “instantâneo” não existia em seu vocabulário.
— Então, o que você acha desse lado sentimental de Lincoln? — perguntou o assistente a Sachs com um sorriso irônico.
— Não, Thom, acho que existe um método por trás dos sentimentos dele — respondeu, aquecendo as mãos na xícara de café.
Ah, essa é a minha Sachs. Sempre raciocinando. Essa era uma das razões pelas quais ele a amava. Seus olhos se encontraram. Rhyme sabia que seu sorriso, ainda que minúsculo, provavelmente equivalia ao dela, músculo por músculo.
— O Relojoeiro sempre foi um enigma — continuou ela. — Não sabíamos muito sobre ele, só que tinha contatos na Califórnia. Alguns familiares distantes que nunca conseguimos localizar, nenhum sócio. Essa poderia ser a chance de encontrar pessoas que conheceram e trabalharam com Logan, legitimamente ou em seus projetos criminais. Certo, Rhyme?
Cem por cento, refletiu.
— E, quando descobrir onde fica a funerária, quero você lá — pediu Rhyme a Pulaski.
— Eu?
— Sua primeira missão secreta.
— Não é a primeira — corrigiu Pulaski.
— A primeira em um funeral.
— Isso é verdade. Quem eu devo fingir ser?
Rhyme verbalizou o primeiro nome que veio à sua mente.
— Harold Pombo.
— Harry Pombo?
— Estava pensando em pássaros. — Indicou com a cabeça um ninho de falcões-peregrinos no parapeito da janela, agrupados para se proteger da tempestade. Eles tendiam a se aninhar mais baixo durante o mau tempo.
— Harry Pombo. — O policial balançava a cabeça. — De jeito nenhum.
Sachs riu. Rhyme fez uma careta.
— Tanto faz. Pense no seu próprio nome, ora.
— Stan Walesa. O pai da minha mãe.
— Perfeito. — Um olhar impaciente em direção a uma caixa no canto da sala. — Ali. Pegue um daqueles.
— O que é aquilo?
— Celulares pré-pagos. Temos uma meia dúzia deles aqui para operações como essa — explicou Sachs.
O jovem policial pegou um.
— Um Nokia. Hum. Telefone com flip. Tecnologia de ponta — disse sendo sarcástico.
Antes que ele ligasse, Sachs disse: — Só não se esqueça de memorizar o número antes, para você não se atrapalhar caso alguém pergunte.
— Claro. Ok. — Pulaski usou o celular e ligou para seu próprio telefone, anotando o número, então se afastou para fazer a chamada.
Sachs e Rhyme se voltaram para o relatório forense do caso do assalto perto da prefeitura e fizeram algumas alterações.
Pouco depois Pulaski retornou.
— O hospital disse que estão esperando para saber qual será o destino do corpo. O diretor do hospital disse estar aguardando uma ligação nas próximas horas.
Rhyme o observou.
— Você consegue dar conta do recado?
— Acho que sim. Dou, sim.
— Se houver um velório, você vai. Caso contrário, você vai à funerária no mesmo horário em que estiverem recolhendo os restos mortais. Minhas flores vão estar lá. Quero ver se isso não vai virar assunto. “O homem que Richard Logan tentou matar e que o pôs na cadeia manda flores para o seu funeral.”
— Quem Walesa deve ser?
— Um parceiro de Logan. Agora, quem? Não tenho certeza. Terei de pensar nisso. Mas deve ser alguém inescrutável, perigoso. — Franziu o cenho. — Gostaria muito que você não tivesse essa cara de coroinha. Você já foi coroinha?
— Eu e meu irmão.
— Bem, tente parecer mais durão.
— Não se esqueça do “perigoso” — acrescentou Sachs —, apesar de isso ser mais difícil que “inescrutável”.
Thom trouxe café para Rhyme numa caneca com entrada para canudo.
Aparentemente, o assistente havia reparado que Rhyme estava olhando para o café de Sachs com vontade. Rhyme agradeceu com um aceno de cabeça.
Como um casal de idosos.
— Me sinto melhor agora, Lincoln — disse Thom. — Por um instante eu achei realmente que estava testemunhando seu lado bonzinho. Fiquei desorientado. Mas saber que você acabou de planejar uma operação para espionar a família de um cadáver? Minha fé em você foi restaurada.
— É uma simples questão de lógica — murmurou Rhyme. — Você sabe que eu não sou o sujeito frio que todos pensam que sou.
Apesar de que, ironicamente, Rhyme queria mesmo mandar as flores, em parte, por motivos sentimentais: prestar uma homenagem a um adversário digno. Suspeitava que o próprio Relojoeiro faria o mesmo por ele.
Os Pontos de Vista Sobre a Morte Número Um e Número Dois não eram, é claro, mutuamente excludentes.
Rhyme então inclinou a cabeça.
— O que foi? — perguntou Sachs.
— Como está a temperatura lá fora?
— Em torno de zero.
— Então tem neve nos degraus? — A casa de Rhyme possuía tanto escada quanto rampa de acesso.
— Tinha nos fundos. Na frente também, imagino.
— Estamos prestes a receber um visitante, acho.
Apesar de a evidência não ter comprovação científica, Rhyme passou a acreditar que, após o acidente que o privou de tantas sensações, aquelas que sobreviveram ficaram ainda mais fortes. Especialmente a audição.
Havia detectado os passos de alguém nos degraus da frente da casa.
Pouco depois a campainha tocou, e Thom foi atender.
O som e a cadência dos passos do visitante caminhando pelo corredor e seguindo até a sala de estar revelavam quem havia tocado.
— Lon.
O detetive Lon Sellitto atravessou o vão da porta a passos largos, tirando seu sobretudo Burberry. A peça era acastanhada e estava bastante amarrotada, como a maioria dos trajes de Sellitto, graças à sua corpulência e à sua postura desleixada. Rhyme se perguntava por que ele não preferia usar roupas escuras, que não evidenciariam tanto sua descompostura.
Entretanto, depois que o casaco fora tirado e jogado sobre uma cadeira de vime, Rhyme notou que o terno azul-marinho exibia igual descuido.
— Tempo horrível lá fora — murmurou Sellitto. Passou a mão por seus finos cabelos grisalhos, e alguns pedaços de neve se soltaram. Seus olhos acompanharam o cair dos flocos. Havia sujado o chão com a lama e a neve trazidos na sola dos sapatos. — Desculpa aí.
Thom disse para ele não se preocupar e lhe trouxe café.
— Horrível — repetiu o detetive, aquecendo as mãos na caneca da mesma forma que Sachs havia feito. Olhos na janela, através da qual, para além dos falcões, era possível ver neve, névoa e galhos escuros. E um pouco do Central Park.
Rhyme não costumava sair muito e, de qualquer maneira, o clima não significava nada para ele, apenas quando era um fator crucial na cena de um crime.
Ou quando auxiliava seu sistema de detecção antecipada de visitantes.
— Está praticamente pronto — avisou Rhyme, apontando para o relatório sobre o assalto/assassinato ocorrido perto da prefeitura.
— Ok, ok, não é por isso que estou aqui. — Tudo emendado como se fosse uma só palavra.
A atenção de Rhyme ficou em suspenso. Sellitto era um policial veterano do Departamento de Casos Especiais; portanto, se não estava ali para buscar o relatório, talvez outra coisa mais interessante pairasse no horizonte. Ainda mais promissor era Sellitto ter visto uma bandeja de pães doces caseiros feitos por Thom e tê-los recusado como se fossem invisíveis.
Sua missão aqui devia ser urgente.
E, portanto, fascinante.
— Recebemos um chamado, um homicídio no SoHo, Linc. Hoje cedo.
Tiramos a sorte no palito e você foi escolhido. Espero que esteja disponível.
— Como posso ser o escolhido se não puxei palito nenhum?
Um gole no café. Ignorando Rhyme.
— É um caso complicado.
— Sou todo ouvidos.
— Uma mulher foi sequestrada no porão da loja onde trabalha. Uma butique qualquer. O assassino a arrastou por uma portinhola escondida até um túnel sob o edifício.
Rhyme sabia que debaixo do SoHo havia um complexo de túneis construído anos antes para o transporte de mercadorias de um edifício industrial a outro. Ele sempre acreditara que seria apenas uma questão de tempo até que alguém usasse o lugar para cometer assassinatos.
— Abuso sexual?
— Não, Amelia — respondeu Sellitto. — O criminoso é um tatuador, aparentemente. E, pelo que os relatos indicam, um dos bons. Ele a tatuou.
Mas não com tinta. Usou veneno.
Rhyme fora cientista forense por muitos anos; sua mente frequentemente fazia deduções precisas a partir de detalhes preliminares escassos. Mas inferências só funcionam quando os fatos apresentados ecoam daqueles vindos do passado. Essa informação era inédita na memória de Rhyme e não serviu para gerar teoria alguma.
— Qual toxina ele usou?
— Não se sabe. O crime acabou de acontecer, como eu estava falando.
Estamos preservando a cena do crime.
— Mais, Lon. Qual desenho ele tatuou nela?
— Algumas palavras, disseram.
A trama ficava mais intrigante.
— Você sabe quais?
— Os relatos não informaram. Mas me falaram que parecia ser parte de uma frase. E você já imagina o que isso significa.
— Ele vai precisar de mais vítimas — completou Rhyme, olhando para Sachs. — Para poder enviar o restante da mensagem.
— O nome dela era Chloe Moore, 26 anos — explicava Sellitto. — Fazia bico como atriz, conseguiu alguns papéis em comerciais e pontas em filmes de suspense. Trabalhava na butique para pagar as contas.
Sachs fez as perguntas de sempre: problemas com o namorado, problemas com o marido, triângulos amorosos?
— Não, nada disso, pelo que pudemos apurar. Acabei de mandar policiais fazerem uma varredura na área, mas as informações preliminares que conseguimos dos outros funcionários da loja e de sua colega de quarto foram de que ela só andava com gente decente. Era bastante conservadora.
Sem namorado no momento e nenhum término problemático.
Rhyme ficou curioso.
— Alguma tatuagem além daquela com a qual ele a matou?
— Não sei. Os bombeiros foram embora logo depois que a equipe médica confirmou que ela tinha morrido no local do crime.
O pronunciamento oficial do médico fazia o relógio da investigação policial começar a correr e dava início a todo tipo de procedimentos. Assim que a confirmação da morte era anunciada, não havia nenhum motivo para alguém permanecer na cena do crime; Rhyme insistia para que os bombeiros sumissem do local para evitar contaminação.
— Bom — disse a Sellitto. Rhyme se deu conta de que estava utilizando o Ponto de Vista Sobre a Morte Número Um. — Ok, Sachs. Em que pé estamos com o funcionário da prefeitura?
Uma olhada nos relatórios.
— Eu diria que está tudo pronto. Ainda esperando os registros de compradores daquele tipo de faca. Mas aposto que o assassino não usou cartão de crédito nem preencheu um questionário do atendimento ao cliente. Não há muito a se fazer.
— Concordo. Ok, Lon, pegaremos o caso. Embora eu tenha percebido que você não chegou a me oferecer nada. Puxou um palito por mim e chegou com o pé na porta, presumindo que eu entraria nessa.
— O que mais você estaria fazendo? Passeando de esqui pelo Central Park?
Rhyme gostava quando as pessoas não pegavam leve por causa de sua condição, quando não tinham medo de fazer piadas, como Sellitto agora.
Ficava furioso quando o tratavam como um boneco quebrado.
Ohhh, coitadinho...
— Liguei para a equipe forense no Queens — avisou Sellitto. — Tem um veículo indo para lá. Eles vão deixar você no comando, Amelia.
— Estou a caminho.
Colocou uma echarpe de lã e luvas. Pegou outra jaqueta de couro do cabideiro, mais comprida, à altura da coxa. Ao longo dos anos juntos, Rhyme nunca a vira usar um sobretudo. Só vestia jaquetas de couro ou esportivas. Também era raro usar um casaco de nylon, a menos que estivesse à paisana ou numa operação tática.
O vento soprava novamente na antiga janela, sacudindo a moldura, e Rhyme quase pediu para Sachs dirigir com cuidado — seu carro esportivo possuía tração traseira, ruim para se dirigir no gelo —, mas pedir a ela que fosse cuidadosa era como mandar Rhyme ser mais paciente; completamente inútil.
— Quer ajuda? — perguntou Pulaski.
Rhyme ponderou.
— Vai precisar dele? — perguntou para Sachs.
— Não sei. Provavelmente não. Só uma vítima, área restrita.
— Por enquanto, você vai ser nossa carpideira à paisana, novato. Vamos pensar no seu álibi.
— Está bem, Lincoln.
— Eu ligo para você da cena do crime — disse Sachs, pegando a bolsa preta de pano que continha o dispositivo de comunicação que usava para falar com Rhyme quando em ação, e se apressou em direção à porta. Um leve uivo do vento e então silêncio quando a porta rangeu e bateu.
Rhyme notou que Sellitto esfregava os olhos. Seu rosto estava acinzentado e ele irradiava exaustão.
O detetive percebeu que Rhyme olhava em sua direção.
— Aquela merda do caso do Met — explicou. — Não tenho dormido nada. Quem invade um lugar com obras de arte valendo um bilhão de dólares, dá uma olhadinha e vai embora sem levar nada? Não faz sentido.
Na semana anterior, pelo menos três gatunos bastante espertos invadiram o Metropolitan Museum of Art na Quinta Avenida tarde da noite.
As câmeras foram desligadas e os alarmes cortados — trabalho nada fácil —, mas uma investigação extenuante na cena do crime tinha revelado que os criminosos passaram por duas áreas: o salão de armas antigas do museu, que ficava aberto ao público — um deleite para meninos em idade escolar, cheio de espadas, machados de combate, armaduras e centenas de outros dispositivos engenhosos projetados para arrancar partes do corpo; e os arquivos no porão do museu, o depósito e áreas de restauração. Eles deixaram o local depois de muitas horas e reativaram os alarmes remotamente. A invasão fora reconstituída através da análise por computador do desligamento do sistema de segurança e pela perícia das salas depois de descobertas as falhas no alarme.
Era quase como se os criminosos tivessem agido como muitos dos turistas que visitam o museu: viram o suficiente, perderam o interesse e se encaminharam para o bar ou restaurante mais próximo.
Um levantamento de inventário completo revelou que, apesar de alguns itens em ambas as áreas terem sido tirados do lugar, os invasores não roubaram uma única pintura, item de coleção nem mesmo um bloquinho de Post-it. Os peritos forenses — Rhyme e Sachs não trabalhavam nesse caso — ficaram perplexos com o tamanho da área a ser analisada; os mostruários de armas e armaduras já eram trabalhosos o suficiente, mas a rede de arquivos e depósitos se estendia pelo subsolo até o leste, atravessando a Quinta Avenida.
O caso havia tomado bastante tempo da polícia, mas Sellitto admitira que essa não era a pior parte.
— Politicagem. Politicagem de merda — explicou. — O prefeitinho acha que pega mal sua joia rara ter sido invadida. O que significa: minha equipe está fazendo hora extra e dane-se todo o resto. Temos ameaças terroristas na cidade, Linc. Alerta vermelho, laranja ou seja lá qual cor que significa que estamos fodidos. Temos aspirantes a Tony Soprano por aí. E o que estou tendo que fazer? Investigar cada sala empoeirada, cada tela esquisita e cada estátua pelada no porão. Sério, todas. Quer saber como me sinto com relação à arte, Linc?
— Como, Lon? — perguntou Rhyme.
— Quero que a arte se foda. É isso que eu sinto.
Mas agora o novo caso — o do tatuador de veneno — havia tomado o lugar do anterior, para o aparente alívio do detetive.
— Com um assassino desses à solta, os jornais não ficarão satisfeitos com a gente perdendo tempo com pinturas de lírios-d’água e estátuas de deuses gregos de pau pequeno. Você já viu essas estátuas, Linc? Esses caras... Sério, bem que o modelo poderia ter mandado o escultor acrescentar uns centímetros ali.
Afundou-se numa cadeira, bebeu mais café. Ainda nenhum interesse pelos pães doces.
Rhyme então franziu o cenho.
— Me diz uma coisa, Lon.
— O quê?
— Quando exatamente esse assassinato da tatuagem aconteceu?
— O óbito foi há uma hora. Uma hora e meia, talvez.
Rhyme ficou confuso.
— Não dá para conseguir uma análise toxicológica em tão pouco tempo.
— Não, o médico disse que demora umas duas horas.
— Então como eles sabem que ela foi envenenada?
— Ah, um dos médicos participou de um caso de envenenamento há uns dois anos. Disse que dá para saber pelas feições paralisadas da face e pela postura. A dor, você sabe. Um jeito horrível de morrer. Temos que pegar esse filho da puta, Linc.
Ótimo. Que ótimo.
Parada no porão da loja no SoHo onde Chloe Moore havia sido sequestrada, Amelia Sachs fez uma careta e se inclinou para a frente, examinando a despensa através da portinhola. Olhava para o túnel apertado que ia daquele cômodo até a cena do crime propriamente dita, aparentemente um túnel maior, onde Chloe havia morrido.
O corpo estava visível e fortemente iluminado pelas lâmpadas que os bombeiros haviam deixado.
Com as palmas das mãos suando, Sachs continuou analisando a pequena brecha pela qual teria de se espremer para passar.
Que ótimo.
Ela voltou para o porão e respirou fundo duas ou três vezes, levando um ar bolorento e com fragrância de combustível para dentro dos pulmões.
Anos antes, Lincoln Rhyme havia criado um banco de dados com mapas das áreas subterrâneas de Nova York, compilado pelo Departamento de Edificações e por outras agências governamentais da cidade. Sachs o tinha baixado através de um aplicativo seguro no iPhone e — com desânimo — olhou novamente para o diagrama na tela.
De onde vinham as fobias?, perguntava-se Sachs. Algum trauma de infância, alguma herança genética que nos desencorajava a passar a mão em cobras venenosas ou dar pulinhos de alegria à beira de penhascos?
Serpentes e penhascos não eram problema para Sachs; claustrofobia, sim. Se ela acreditasse em vidas passadas, o que não era o caso, poderia imaginar que, numa outra encarnação, teria sido enterrada viva. Ou, se seguisse a lógica do carma, seria mais provável que ela tivesse sido uma rainha vingativa que enterrava seus rivais enquanto eles clamavam por suas vidas.
Sachs, com quase um metro e oitenta, olhou para o calibre de seu oponente: a passagem de uns setenta ou setenta e cinco centímetros de diâmetro que levava da despensa até o maior túnel de transporte, local do assassinato. A passagem estreita tinha, de acordo com o mapa, sete metros de comprimento.
É um caixão cilíndrico, pensou ela.
O local do homicídio também era acessível através de um bueiro localizado a mais ou menos nove metros de onde o corpo estava. O assassino provavelmente havia entrado no matadouro pelo bueiro, mas Sachs sabia que teria de se esgueirar através do túnel menor, coletando resíduos pelo caminho, pois era por onde ele havia rastejado até chegar ao porão da loja — e por onde arrastara Chloe antes de matá-la.
— Sachs? — A voz de Rhyme irrompeu pelo fone de ouvido. Ela tomou um susto e abaixou o volume. — Cadê você? Não consigo enxergar nada.
O dispositivo de comunicação que Sachs usava tinha não só um microfone e um receptor como também uma câmera de alta definição. Ela acabara de acoplar o aparelho e ainda não o tinha ativado.
Apertou um botão na câmera incrivelmente pequena— com o tamanho de uma pilha AA — e escutou Rhyme dizer: — Ok. — Então um resmungo: — Ainda está bem escuro.
— Porque está escuro. Estou num porão, prestes a entrar num túnel da largura de uma forma de pão.
— Eu nunca vi uma forma de pão — respondeu. — Não estou certo de que elas existam. — Rhyme sempre ficava de bom humor ao se aproximar de uma nova cena de crime. — Bem, vamos indo. Examine os arredores. Vejamos o que tem aí.
Sachs frequentemente usava esse equipamento quando investigava uma cena. Rhyme dava sugestões — com menos frequência agora do que quando eles começaram a trabalhar juntos e ela ainda era uma novata. Ele também gostava de ficar de olho na segurança dela, apesar de nunca admitir isso. Rhyme insistia para que os peritos vasculhassem as cenas sozinhos — do contrário haveria muita distração. Os cientistas forenses mais experientes criavam laços psicológicos com esses lugares. Eles se tornavam as vítimas, transformavam-se nos criminosos — e, desse modo, localizavam evidências que poderiam ter deixado passar. Essa ligação não acontecia, ou não com tanta facilidade, quando outra pessoa estava presente. Mas estar sozinho era um risco. Era incrível a quantidade de vezes que o clima de uma cena de crime podia esquentar de repente: o criminoso voltava, ou permanecia no local e atacava o perito que vasculhava a cena. Houve até casos em que, apesar de o criminoso ter fugido há um bom tempo, outro ataque sem relação alguma com o primeiro acontecia. Uma vez, Sachs tinha sido atacada por um mendigo, um esquizofrênico achando que ela chegara para roubar seu cachorro imaginário.
Ela olhou para o interior da despensa novamente, para dar um panorama a Rhyme, e então fixou o olhar no túnel do inferno.
— Ah — disse ele, agora entendendo a preocupação dela. — A forma de pão.
Sachs fez os ajustes finais em seu traje. Estava com um macacão Tyvek branco, gorro e botas. Como a aparente arma do crime era um veneno, ela colocou um respirador facial N95. A toxina tinha sido injetada através de uma pistola de tatuagem, segundo os bombeiros, e não parecia haver nenhum agente tóxico no ar que eles tivessem identificado. Ainda assim, por que arriscar?
Passos atrás dela, alguém se aproximando pelo porão úmido e com cheiro de mofo do Chez Nord.
Ela se virou e viu a atraente perita forense que ajudaria com os pormenores na loja. Sachs conhecia Jean Eagleston havia anos; ela era uma das estrelas da perícia forense. Eagleston interrogara a gerente da loja, que encontrara o corpo. Sachs quis saber se a mulher tinha ido até o local do crime propriamente dito — onde jazia o corpo de Chloe — para saber do paradeiro de sua funcionária.
Mas Eagleston disse: — Não. A gerente notou que a porta estava aberta, deu uma olhada dentro da despensa e viu a vítima caída ali. Foi o suficiente para ela. Não quis entrar mais.
Não culpo a gerente, refletiu Sachs. Mesmo sem sofrer de claustrofobia, quem entraria num túnel deserto com o que parece ser a vítima de um assassinato jogada no chão, com o assassino talvez ainda por ali?
— Como ela conseguiu ver a vítima? — perguntou Rhyme. Ele estava ouvindo a conversa. — Pensei ter visto refletores ali agora, dos médicos.
Mas não estava escuro antes?
Sachs repassou a pergunta, mas a perita não sabia a resposta.
— Tudo o que a gerente falou foi que conseguiu enxergar o interior.
— Bem, vamos descobrir se é verdade — disse Rhyme.
— As únicas outras pessoas no local do crime foram um policial de patrulha e um médico — completou Eagleston. — Mas saíram dali assim que confirmaram a morte. Para nos esperar. Tenho amostras da sola de seus sapatos para que a gente possa eliminar qualquer pegada que tenham deixado. Eles disseram que não tocaram em nada além da vítima, quando verificaram seus sinais vitais. E o médico estava usando luvas.
Portanto a contaminação da cena — a introdução de evidência sem relação com o crime em si ou com o assassino — seria mínima. Essa era uma vantagem de um assassinato cometido num buraco infernal como esse. Um crime no meio da rua poderia incluir dezenas de fontes de contaminação, desde poeira trazida pelo vento, chuva e neve (como hoje) até passantes e mesmo pessoas atrás de suvenires do crime. Um dos piores contaminadores eram os companheiros de farda, especialmente os arrogantes oficiais de alto escalão, caso repórteres estivessem por perto, ansiosos para gravar uma frase de efeito e jogá-la em um noticiário.
Mais um olhar em direção ao caixão cilíndrico.
Ok, pensou Amelia Sachs: hora de ser durona...
Uma frase de seu pai. Ele também tinha sido policial, um patrulheiro que trabalhava no Deuce — ao sul do centro — nos tempos em que a Times Square era como uma cidadezinha do interior do século XIX. Hora de ser durão significava um daqueles momentos em que você tem de enfrentar seus piores temores.
Forma de pão...
Sachs retornou até a portinhola e a atravessou para ir à despensa sob o porão. Então pegou o saco de coleta de evidências com a outra perita.
— Você vasculhou o porão, Jean? — perguntou.
— Vou fazer isso agora — respondeu Eagleston. — Depois levo tudo para o nosso carro.
Revistaram o porão rapidamente. Mas ficou evidente que o assassino havia passado pouquíssimo tempo ali. Tinha agarrado Chloe, dominado-a de algum modo e arrastado-a até a portinhola; as marcas do sapato de salto alto eram visíveis.
Sachs colocou o saco pesado no chão e o abriu. Fotografou e reuniu evidências da despensa, apesar de, tal como no porão, o assassino e a vítima terem ficado ali por pouco tempo; ele precisou tirá-la de vista o mais rápido possível. Ensacou e etiquetou os vestígios, e pôs os recipientes de papel e plástico no chão do porão para que os outros peritos o levassem até o carro.
Então se virou para a minúscula abertura da passagem, observando-a do mesmo modo que alguém olharia para o cano de uma arma nas mãos de um criminoso desesperado.
Forma de pão...
Ela não se moveu. Ouviu seu coração palpitar.
— Sachs. — A voz de Rhyme ecoou em seu ouvido.
Ela não respondeu.
— Eu entendo. Mas... — disse ele com calma.
Ou seja: vai, caramba.
Justo.
— Deixa comigo, Rhyme. Não se preocupe.
Hora de ser durona...
Não é um túnel tão longo, pensou ela, tranquilizando-se. Sete metros.
Isso não é nada. Apesar disso, por alguma razão inexplicável, Sachs se viu odiando muito aquela distância. Ao se aproximar, as palmas da mão começaram a transpirar intensamente; o couro cabeludo também, que coçava mais que o normal. Ela queria coçar, cravar as unhas na pele. Um tique nervoso. Essa necessidade surgia quando ela se sentia imobilizada — em todos os sentidos, físico, emocional e mental.
Paralisada: como odiava aquela sensação.
Respirava em breves intervalos, ofegante.
Para se orientar, Sachs tocou em sua Glock 17, presa à cintura. Havia um pequeno risco de contaminação em sua arma, mesmo que ela não enchesse ninguém de balas, mas aí estava, novamente, aquela questão da segurança.
E, se qualquer criminoso idealizasse um bom cenário para ferir um perito forense, seria aqui.
Ela prendeu uma das extremidades de uma corda de nylon no saco com o material para coletar evidências e a outra na cinta do coldre, para levá-la atrás de si.
Avançando. Parando de frente para a passagem. Então ficando de quatro. Seguindo pela abertura estreita. Sachs queria apagar a lâmpada presa à cabeça — enxergar o túnel a incomodava mais que se concentrar no objetivo ao fim dele —, mas temia deixar de notar alguma evidência.
Clique.
Sob o feixe de luz halógena, aquele caixão de metal parecia encolher e envolvê-la em aço.
Vá. Em. Frente.
Ela retirou um rolo adesivo do bolso e o aplicou sobre o chão do túnel ao avançar. Sabia que, por causa do espaço confinado e do presumível esforço do assassino para carregar a vítima, era provável que ele tivesse deixado alguma evidência, então Sachs se concentrou em beiradas e regiões pontiagudas onde ele poderia ter deixado vestígios.
Pensou numa piada, uma tirada de Steven Wright de anos atrás. “Uma vez, fui a um hospital para fazer uma ressonância magnética. Queria saber se tinha claustrofobia.”
Mas essa lembrança engraçada e a concentração em sua tarefa não afastaram o pânico por muito tempo.
Ela havia ultrapassado um terço do caminho quando o medo penetrou suas vísceras, uma lâmina gélida.
Sai daqui, sai daqui, sai daqui!
Ela batia o queixo, apesar do calor intenso do ambiente.
— Você está indo bem, Sachs. — A voz de Rhyme em seu ouvido.
Ela apreciava o apoio de sua voz de barítono, mas não queria isso.
Baixou o volume no fone de ouvido.
Mais alguns metros. Respire, respire.
Concentre-se na tarefa. Sachs tentou. Mas suas mãos estavam trêmulas e ela derrubou o rolo, o estampido do cabo dele batendo no túnel de metal quase a fez engasgar.
E então a loucura do medo a fisgou. Sachs colocou na cabeça que o criminoso desconhecido estava atrás dela. Ele havia, de algum modo, se empoleirado no teto da despensa e pulado ali atrás dela. Por que não olhei para cima? Você sempre olha para cima numa cena de crime! Merda.
Então um puxão.
Ela engasgou.
Não era o saco de equipamentos preso a ela. Não, era a mão do assassino! Ele iria amarrá-la aqui embaixo. E então preencheria lentamente o túnel com terra, a começar pelos seus pés. Ou encheria de água. Ela escutara água pingando na despensa; havia canos. Ele rosquearia o plugue, abriria uma válvula. Ela se afogaria, gritando, enquanto a água subia, e ela não conseguiria se deslocar para a frente nem para trás.
Não!
Que aquele cenário era no mínimo improvável, não importava. O medo transformava o improvável, e mesmo o impossível, em algo mais que plausível. Agora o próprio medo era outro ocupante do túnel, respirando, beijando, provocando e passando seus braços como vermes em volta dela.
Sachs ficou furiosa consigo mesma: Não perca a cabeça. Você está correndo o risco de tomar um tiro no fim do túnel, não de ser sufocada por um assassino que não existe com uma pá que também não existe. Não há chance alguma de o túnel sofrer um colapso e prender você em um aperto tão firme quanto o de uma cobra esmagando um rato. Isso. Não. Vai.
Acontecer.
Mas então aquela imagem que ela mesma criou — a cobra e o rato esmagado — entranhou-se em seus pensamentos, e o pânico aumentou um pouco mais.
Merda. Vou enlouquecer. Vou pirar de verdade.
O fim do túnel estava agora a aproximadamente dois metros e meio de distância, e ela foi tomada por uma vontade de sair correndo. Mas não podia. Não havia espaço suficiente para que avançasse mais rápido, só podia rastejar. De qualquer forma, Sachs sabia que tentar apressar as coisas seria um desastre. Primeiro porque ela poderia perder evidências. E ir mais rápido incitaria o pavor, que explodiria dentro dela como uma reação em cadeia.
Além disso: sair mais rapidamente do túnel, mesmo que fosse possível, seria uma derrota.
Seu mantra pessoal — que também aprendera com o pai — era: enquanto você estiver em movimento, eles não podem te pegar.
Mas, às vezes, como agora, estar em movimento significava que eles iriam te pegar.
Portanto, pare, ordenou a si mesma.
E assim o fez. Parou completamente. E sentiu os perversos braços do túnel envolvendo-a em um aperto ainda maior.
Pânico, fluindo como uma onda. Pânico, perfurando-a como uma faca congelada.
Não se mova. Sinta o medo, disse a si mesma. Encare-o. Confronte-o.
Sachs supôs que Rhyme estivesse falando com ela, os sussurros de sua voz distantes, perplexos ou preocupados ou impacientes. Provavelmente tudo isso. Lá se foi o volume do fone de ouvido para o mudo.
Respire.
Respirou. Inspire, expire. Olhos abertos, observando o círculo de luz à frente dela, um alívio a quilômetros de distância. Não, aquilo não.
Evidências. Procure evidências. Sua tarefa é essa. Seu olhar se voltou para a parede do túnel de metal a centímetros dela.
E a pontada de pânico começou a se dissipar. Não a sumir completamente. Mas a diminuir.
Ok. Ela continuou pelo túnel, passando o rolo atrás de vestígios, coletando resíduos e intencionalmente se deslocando com menos pressa que antes.
E finalmente sua cabeça emergiu. Ombros.
Nascendo, riu para si mesma, um som abafado, e piscou, fazendo o suor escorrer dos olhos.
Então passou depressa para dentro do túnel maior; parecia um anfiteatro em comparação. Agachando-se, sacando sua Glock.
Mas nenhum invasor estava lá apontando uma arma para ela, não na área próxima a ela pelo menos. Os refletores sobre o corpo eram ofuscantes, e poderia haver alguma ameaça na penumbra logo atrás, mas Sachs imediatamente iluminou aquele espaço com sua lanterna Maglite.
Nenhum perigo.
Levantando-se, Sachs puxou para fora do túnel o saco com os equipamentos. Observou ao redor e viu que o diagrama do banco de dados de Rhyme era preciso. O túnel lembrava uma galeria de mineração, com aproximadamente seis metros quadrados. Sumia a oeste na escuridão. Ela sabia que aquele lugar havia sido usado, um século atrás, para o transporte de carrinhos de produtos das fábricas até depósitos e vice-versa. Hoje, a passagem úmida e com cheiro de mofo servia apenas como infraestrutura nova-iorquina. Havia grandes canos de metal acima, embaixo outros menores de alumínio e alguns de PVC, talvez para fiações elétricas, atravessando caixas de força desgastadas pelo tempo. Conduítes mais novos brotavam de caixas com um amarelo vívido, protegidas por grossos cadeados. Escritas em relevo nesses conduítes estavam as letras RIFO. Ela não sabia o que aquilo significava. Os canos de ferro tinham adesivos com DS-NY e DPA-NY — Departamento de Saneamento e Departamento de Proteção Ambiental, agências que lidavam respectivamente com o esgoto e o abastecimento de água da cidade.
Percebeu que tudo estava muito quieto e aumentou o volume do rádio.
— ... diabos está acontecendo?
— Desculpa, Rhyme — disse Sachs. — Tinha que me concentrar.
Ele permaneceu em silêncio por um tempo. Então pareceu entender: a batalha dentro da forma de pão.
— Tudo bem. Ok. A cena está segura, pelo que dá para notar?
— As imediações dela, sim. — O túnel estava bloqueado com tijolos a leste, mas ela olhou novamente em direção à escuridão do oeste.
— Acenda uma das luzes naquela direção. Isso cegará qualquer pessoa tentando atingir você. E você poderá vê-lo chegando antes que ele veja você.
Os bombeiros haviam deixado lá duas lâmpadas halógenas posicionadas sobre tripés, conectadas a grandes baterias. Sachs virou uma delas na direção que Rhyme sugeriu e semicerrou os olhos ao examinar o recuo do túnel.
Nenhum sinal de ameaças.
Sachs esperava que não houvesse nenhum tiroteio. O grande cano acima, recentemente instalado, ao que parecia — aquele com a marca DPA —, parecia ser feito de ferro espesso; sua munição na Glock, balas de ponta oca, não perfurariam o metal. Mas se o suspeito voltasse atirando, ele poderia estar com balas perfurantes, que seriam capazes de atravessar o cano. Devido à grande pressão da água ali dentro, ela imaginou que um rompimento criaria uma explosão tão destruidora quanto uma carga de dinamite.
E, mesmo que estivesse com balas comuns, o ricochete no metal, na pedra ou nas paredes de tijolos poderiam matar ou ferir tão facilmente quanto um tiro direto.
Deu mais uma olhada no túnel e não viu nenhum movimento.
— Tudo limpo, Rhyme.
— Ótimo. Então. Prossiga. — Ele estava ficando impaciente.
Sachs já tinha passado desse ponto. Queria dar o fora dali.
— Comece pela vítima.
Ela era mais que uma vítima, Rhyme, pensou Sachs. Ela tem um nome.
Chloe Moore. Era uma balconista de 26 anos numa butique que vendia roupas com fios escapando da costura. Trabalhava para ganhar quase um salário mínimo porque era apaixonada por Nova York. Pela carreira de atriz. Por ter 26 anos. E que Deus a abençoe por isso.
E ela não merecia morrer. Ainda mais desse jeito.
Sachs colocou elásticos em suas sapatilhas descartáveis, na sola dos pés, para distinguir as pegadas dos próprios passos das do assassino e das dos bombeiros — cujos calçados ela fotografaria depois como amostras de controle.
Aproximou-se do corpo. Chloe de barriga para cima, sua blusa erguida até abaixo dos seios. Sachs notou que mesmo na morte seu rosto bonito e arredondado estava distorcido com uma expressão assimétrica e músculos enrijecidos. Isso era prova da óbvia dor que ela havia sentido, dor que a levou à morte. Ela espumara pela boca. E havia vomitado muito. O cheiro era abjeto. Mentalmente, Sachs ignorou esses detalhes.
As mãos de Chloe, sob o corpo, estavam presas com uma algema fajuta.
Usando uma chave mestra, Sachs a removeu. Os tornozelos da vítima estavam presos com silver tape. Com uma tesoura cirúrgica, ela a cortou e ensacou as tiras cinzentas empoeiradas. Raspou sob as unhas roxo-escuras da mão da jovem, notando a presença de fibras e flocos esbranquiçados.
Talvez Chloe tivesse se defendido dele e, se fosse o caso, vestígios preciosos, até mesmo pele, estariam presentes; se o assassino estivesse no banco de dados de DNA da polícia, poderiam descobrir sua identidade em questão de horas.
— Quero ver a tatuagem, Sachs — disse Rhyme.
Ela notou a presença de uma pequena tatuagem azul no pescoço de Chloe, à direita, perto dos ombros, mas aquela tinha sido feita havia muito tempo. Além disso, era fácil perceber qual tatuagem era obra do assassino.
Sachs se ajoelhou e desviou o olhar, e a câmera, para o abdômen de Chloe.
— Aqui está, Rhyme.
— A mensagem dele — sussurrou o cientista forense. — Bem, uma parte dela. O que você acha que isso significa?
Levando em conta as letras esparsas, Sachs percebeu, a pergunta devia ser retórica.
As duas palavras tinham cerca de quinze centímetros, horizontalmente dispostas dois centímetros e meio acima do umbigo da mulher.
Apesar de ele presumivelmente ter usado veneno, não tinta, o ferimento inflamado, inchado e aberto era fácil o suficiente de entender.
— Ok — disse Rhyme. — “O segundo”. E a borda, as linhas em formato de concha. Consegue imaginar do que isso se trata?
— Elas não estão tão inchadas quanto as letras — comentou Sachs. — Talvez não tivesse veneno nelas. Parecem feridas, não tatuagens. E, Rhyme, dá uma olhada nesses caracteres.
— Em como estão bem-feitos?
— Exatamente. Caligrafia. Ele é bom. Sabe o que está fazendo.
— E outra observação. Deve ter levado algum tempo para tatuá-los. Ele poderia tê-los feito grosseiramente. Ou apenas injetado o veneno nela. Ou mesmo dado um tiro. Qual o jogo dele?
Sachs teve um insight.
— E, se a tatuagem demorou a ser terminada, isso significa que ela sentiu dor por muito tempo.
— Bem, sim, dá para ver a reação de dor, mas sinto que isso foi depois.
Ela não podia estar consciente enquanto ele escrevia a mensagem. Mesmo que ela não estivesse tentando fugir, o movimento involuntário teria arruinado a caligrafia. Não, ele a subjugou de algum modo. Algum ferimento na cabeça?
Sachs examinou o couro cabeludo da mulher com cuidado e olhou sob sua blusa, na frente e atrás.
— Não. E não vejo sinal de marcas de dispositivos de choque. Sem vergões de armas atordoantes... Ah, mas, Rhyme, está vendo isso?
Ela apontou para um pequeno ponto vermelho no pescoço de Chloe.
— O ponto de entrada da injeção?
— Acho que sim. Acho que foi um sedativo, não veneno. Não há sinal de inchaço nem outra irritação que uma toxina causaria.
— O exame de sangue vai nos dizer.
Sachs fotografou o ferimento, então se abaixou e passou com cuidado o rolo pela região, colhendo vestígios. Então pelo resto do corpo também e no chão ao redor. Era provável que um assassino tão metódico tivesse usado luvas — certamente parecia que sim. De qualquer forma, evidências valiosas, mesmo que o criminoso estivesse de luvas e coberto até a cabeça, ainda poderiam facilmente se deslocar para a vítima ou para a cena do crime.
Edmond Locard, o cientista forense francês que viveu um século atrás, formulou uma teoria de “princípio da troca”: cada vez que um crime acontece, existe uma transferência de evidência entre o criminoso e a cena do crime, ou entre o criminoso e a vítima. Essa evidência (a qual ele se refere como “poeira”) pode ser muito, muito difícil de detectar e coletar, mas ela existe, para cientistas forenses rigorosos e inovadores.
— Tem algo esquisito aqui, Rhyme.
— Esquisito? — Uma farpa de desdém pela palavra vulgar. — Diga, Sachs.
— Estou usando apenas um dos refletores dos bombeiros, o outro está direcionado para o túnel. Mas há duas sombras projetadas no chão. — Ela olhou para cima e andou vagarosamente em círculo para ter uma visão melhor. — Ah, tem uma outra luz perto do teto, entre aqueles dois canos.
Parece uma lanterna.
— Não foi deixada pelos policiais que atenderam ao chamado?
— Que tipo de policial abriria mão de sua Maglite?
A grande lanterna preta em formato de tubo que todos os policiais e bombeiros carregavam por aí eram inestimáveis — ótimas fontes de iluminação e ainda por cima serviam como um bastão para quebrar ossos em uma emergência.
Mas Sachs notou que não se tratava de um dos modelos caros. Essa era de material barato, plástico.
— Está presa ao cano. Com silver tape. Por que ele largaria a lanterna aqui, Rhyme?
— Isso explica tudo.
— O quê? — perguntou ela.
— Como a gerente da loja encontrou o corpo. A lanterna. Nosso assassino queria ter certeza de que veríamos a mensagem de nosso patrocinador.
Sachs achou as palavras um pouco irreverentes demais, mas ela sempre suspeitara que muito da fachada rude e dos comentários sarcásticos de Rhyme era um mecanismo de defesa. Ainda assim, pensou que ele talvez tivesse erguido as barricadas de proteção mais alto que o necessário.
Sachs preferia manter o peito aberto.
— Vou coletá-la por último — disse ela. — Toda fonte de luz ajuda.
Ela então varreu a área, um termo de Rhyme que significava vasculhar a cena do crime. O padrão de varredura era a abordagem mais abrangente na busca por evidências e na avaliação do que havia ocorrido. A técnica envolvia andar devagar pela cena do crime, e então girar e se deslocar um passo para a direita ou para a esquerda e retornar ao extremo oposto.
Fazia-se isso várias vezes até percorrer todo o espaço. Então se voltava noventa graus e refazia os passos pela mesma área, perpendicularmente.
Como quando aparamos um gramado duas vezes.
E a cada passo, parava para olhar para cima, para baixo e para os lados.
Sentia o cheiro do ambiente também, apesar de, nesse caso, Sachs não conseguir detectar nada além do vômito de Chloe. Nada de metano nem fezes, o que a surpreendeu, considerando que um dos canos ali se conectava ao sistema de esgoto da cidade.
A busca não revelou muito. Fossem lá quais instrumentos o criminoso trouxera consigo, ele os havia levado embora — a não ser pela lanterna, as algemas e as tiras de silver tape. Ela fez apenas uma descoberta, uma bolinha de papel amassado, levemente amarelado.
— O que é isso, Sachs? Não consigo ver bem.
Ela descreveu o que era.
— Não mexa nela; abriremos depois. Pode haver vestígios dentro.
Talvez seja dela.
Dela. Da vítima.
Chloe Moore.
— Ou talvez seja do assassino, Rhyme — acrescentou Sachs. — Achei algo que parecia fibra de jornal ou papel debaixo das unhas dela.
— Ah, isso pode ser bom. Ela tentou se defender? Agarrou algo dele? Ou talvez ele queria algo que ela possuía e arrancou de seus dedos, enquanto ela resistia tentando segurar o objeto? Dúvidas, dúvidas, dúvidas.
Usando mais rolos adesivos e um pequeno aspirador portátil, Sachs continuou a investigação. Assim que essas amostras foram ensacadas e etiquetadas, ela usou um aspirador diferente e um novo rolo para coletar evidências o mais distante possível do local onde Chloe jazia e longe do caminho que o suspeito devia ter percorrido. Essas eram amostras de controle — resquícios naturais da área. Se as análises no laboratório revelassem, por exemplo, um solo argiloso perto das pegadas do assassino, as quais não batessem com nenhum dos exemplares de controle, eles poderiam concluir que ele vivia, trabalhava ou possuía alguma outra ligação com um ambiente repleto de argila. Um pequeno passo na direção de desmascarar o malfeitor... mas um avanço de qualquer forma.
— Não vejo muitas marcas de sapato nem de botas, Sachs.
Ela olhava para baixo, para onde ele poderia ter pisado.
— Consigo identificar algumas, mas não serão de muita ajuda. Ele usou sapatilhas descartáveis.
— Droga — resmungou o cientista forense.
— Vou analisar as pegadas atrás de pistas, mas não há por que usar eletrostática.
Referia-se ao uso de folhas de plástico para extrair pegadas, quase da mesma forma que eram descobertas impressões digitais. O padrão resultante não apenas indicaria o tamanho do sapato mas também poderia aparecer no banco de dados de calçados que Rhyme havia criado para o Departamento de Polícia de Nova York anos antes, o qual ainda era usado.
— E eu diria que ele tinha seu próprio rolo adesivo. Parece que limpou o máximo que pôde.
— Odeio criminosos inteligentes.
Não, não odiava, refletiu Sachs. Ele odiava os tapados. Vilões espertos eram desafiadores e muito mais divertidos. Sachs abriu um sorriso sob seu respirador facial N95.
— Vou baixar o volume, Rhyme. Checando rotas de entrada e saída agora. O bueiro.
Pegou sua Maglite, acendeu o poderoso feixe de luz e continuou pelo túnel em direção ao bueiro, notando que não sentia nem um pingo de dor da persistente artrite que a havia atormentado por décadas; uma cirurgia recente surtira efeito. Sua sombra, projetada pela luz halógena atrás de si, alongava-se à frente, como a silhueta distorcida de um fantoche. O solo sob o bueiro era úmido. Isso era um forte indício de que fora por ali que o criminoso havia entrado e saído do túnel. Fez uma anotação mental sobre esse fato e então continuou rumo aos confins escuros.
A cada passo ela ficava mais apreensiva. Não pela claustrofobia dessa vez — o túnel era desagradável, mas espaçoso, comparado à entrada do duto. Não, seu desconforto era por ter visto o trabalho do assassino — a tatuagem, o corte, o veneno. A combinação entre ser inteligente, calculista e escolher perversamente sua arma do crime, tudo isso conspirava em favor da tese de que ele ficaria mais que feliz em esperar ali e tentar impedir o avanço de seus captores.
Com a lanterna na mão esquerda, enquanto a direita pairava sobre a Glock, Sachs continuou através do túnel cada vez mais sombrio, atenta para o som de passos, da respiração do agressor, do clique de uma arma enviando balas dos cartuchos para a câmara, ou da trava de segurança sendo liberada, ou do disparo do gatilho.
Nenhum desses, embora ela tivesse escutado uma vibração de um ou mais conduítes ou das caixas amarelas marcadas com as iniciais RIFO, seja lá o que isso significasse. Um barulho fraco nos canos de água.
Então um som arrastado, um lampejo de movimento.
Sacou a Glock, mão esquerda segurando a Maglite, antebraço sustentando a mão que empunhava a arma. Alinhou a mira traseira com a do cano. Vasculhando, examinando.
Onde?
Novamente suor, um sobressalto do coração.
Porém muito diferente do pânico claustrofóbico que faz o coração disparar. Isso não era um medo amargo. Era antecipação. Isso era uma caçada. E Amelia vivia por essa sensação.
Estava pronta, dedo fora da posição de segurança, sobre o gatilho, mas leve como uma pena; é necessário pouco mais que um suspiro para disparar uma Glock.
Vasculhando, vasculhando...
Onde? Onde?
Clique...
Ela se agachou.
E o rato surgiu alegremente de trás de uma pilastra, fitou-a com cara de pouca preocupação e se virou, zarpando.
Obrigada, pensou Sachs, seguindo mais ou menos na direção em que a criatura seguiu — rumo à outra ponta do túnel. Se o roedor estava andando tão despreocupadamente sobre a terra era pouco provável que uma emboscada a aguardasse. Continuou andando. Depois de pouco mais de cinquenta metros, ela chegou a uma parede de tijolos. Não havia pegadas por aqui — normais nem de sapatilhas descartáveis —, portanto o criminoso não tinha vindo para estes lados. Sachs voltou para a escada.
Tirou seu celular — guardado em um saco plástico para evitar contaminações — e puxou o mapa do GPS. Notou que estava sob a Elizabeth Street, a leste, perto do meio-fio.
Sachs aumentou o volume do fone de ouvido.
— Estou sob o bueiro, Rhyme. — Explicou onde estava e que, provavelmente, fora por ali que o assassino havia entrado, porque havia uma quantidade significante de umidade no solo; a tampa do bueiro tinha sido removida possivelmente na última hora, estimou ela. — Está cheio de lama aqui. — Um suspiro. — Mas não há pegadas. Naturalmente. Devíamos pedir a Lon que vasculhe as lojas e os apartamentos da vizinhança, para saber se alguém viu o criminoso.
— Vou ligar para ele. E tentar conseguir alguma imagem de câmeras de segurança também.
Rhyme era cético com relação a testemunhas. Acreditava que, na maioria dos casos, elas atrapalhavam mais que ajudavam. Não enxergavam direito as coisas, tinham memória fraca — intencionalmente ou não — e temiam se envolver. Uma imagem digital era bem mais confiável. Essa não era necessariamente a opinião de Sachs.
Passou o rolo sobre os degraus enquanto subia pela escada, depositando o tecido adesivo dentro de sacos para coleta de provas.
No alto da escada, ela pegou uma pequena lanterna de luz negra para verificar se havia impressões digitais em algum lugar. As lâmpadas especiais utilizam cores dos espectros de luz visível (como o azul ou o verde) combinados com filtros para tornar aparentes evidências impossíveis de se ver sob lâmpadas comuns ou à luz do dia. Elas incluem luzes invisíveis, tal como ultravioleta, que fazem certas sustâncias brilharem.
A análise, é claro, não revelou impressões digitais nem outras provas deixadas pelo suspeito. Ela testou o peso da tampa do bueiro; poderia movê-la, mas não muito. Supunha que pesasse algo em torno de cinquenta quilos. Difícil de se abrir empurrando, mas não impossível para uma pessoa forte.
Ela ouviu o tráfego acima de sua cabeça, o barulho de pneus esmagando a neve molhada. Apontou a luz para cima, olhando pelo buraco através do qual um operário engataria o gancho para remover a tampa. Imaginando que tipo de vestígios os levariam a uma determinada marca de ferramenta que o criminoso tivesse usado. Nada.
Foi então que um olho apareceu pela fresta.
Nossa... Sachs ofegou.
A centímetros de distância, na rua acima dela, alguém estava agachado e olhava em sua direção através do buraco de engate. Por um momento nada aconteceu; em seguida, os olhos se estreitaram, como se a pessoa — um homem, ela sentiu — tivesse piscado ligeiramente. Talvez sorrisse, talvez estivesse perturbado ou curioso sobre o porquê de um feixe de luz estar saindo por uma tampa de bueiro no SoHo.
Ela se afastou, achando que ele encaixaria o cano de uma arma no vão e começaria a atirar. A Maglite despencou enquanto ela agarrava o degrau mais alto com as duas mãos para não cair.
— Rhyme!
— O quê? O que está acontecendo? Você está se movendo rápido.
— Tem alguém sobre a tampa do bueiro. Você ligou para Lon?
— Acabei de ligar. Acha que é o suspeito?
— Pode ser! Ligue para a central! Mande alguém para a Elizabeth Street agora!
— Estou ligando, Sachs.
Ela pressionou a tampa do bueiro com a mão e empurrou. Uma vez.
Duas vezes. Com toda a força.
A placa de ferro se ergueu poucos centímetros. Não mais que isso.
— Falei com Lon — avisou Rhyme. — Ele está enviando reforços.
Alguns homens da Unidade de Serviço de Emergência também. Estão a caminho, já bem perto.
— Acho que ele já fugiu. Tentei abrir a tampa, Rhyme. Não consegui.
Droga. Não deu. Eu estava olhando diretamente para ele. Tinha que ser o criminoso. Quem se ajoelharia no meio da rua num dia como esse e olharia dentro de uma tampa de bueiro?
Sachs tentou outra vez, achando que ele talvez estivesse agachado sobre a tampa e era isso o que a estava impedindo de erguê-la. Mas não, impossível mover a tampa com uma das mãos livres.
Merda.
— Sachs?
— Diga.
— Um policial viu uma pessoa no bueiro com um casaco curto cinza escuro com um gorro na cabeça. Saiu correndo. Desapareceu no meio da multidão na Broadway. Um homem branco. Magro ou de porte médio.
— Droga! — resmungou Sachs. — Era ele! Por que correria, se não fosse? Mande alguém tirar essa tampa, Rhyme!
— Escute, já tem muita gente atrás dele. Continue vasculhando a cena.
Essa é a nossa prioridade.
Com o coração acelerado, Sachs empurrou a tampa do bueiro com a palma da mão mais uma vez. Convencida, injustificavelmente, de que, se conseguisse subir até a rua, poderia encontrá-lo, mesmo que os outros falhassem.
Lembrou-se do olho. Viu a pálpebra se estreitando.
Acreditava que o criminoso estava rindo dela, provocando-a porque ela não tinha sido capaz de abrir a tampa.
Qual era a cor da íris?, perguntou-se. Verde, cinza, castanho? Ela não havia pensado em memorizar a cor. Esse descuido a enfureceu.
— Pensei numa coisa. — Rhyme a trouxe de volta à realidade.
— Em quê?
— Sabemos que foi assim que ele entrou no túnel, pelo bueiro. E isso significa que ele pode ter montado uma pequena zona de obra. Ele estaria carregando cones e faixas ou algum tipo de barricada. E isso pode aparecer em vídeo.
— Ou uma testemunha pode ter visto.
— Bem. Sim, talvez. Se é que isso serve para alguma coisa.
Sachs desceu novamente pela escada e retornou até a vítima. Ela havia realizado um rápido exame do corpo de Chloe, mas agora passava sobre ele luz negra em busca de vestígios de um dos três S presentes na maioria dos casos de abuso sexual — sêmen, suor e saliva.
Não obteve resultados, mas ficou claro que ele havia tocado sua pele com os dedos enluvados — ou pelo menos abdômen, braços, pescoço e rosto. Nenhuma outra parte do corpo parecia ter sido tocada.
Sachs passou a luz sobre o restante da cena do crime — do bueiro até a forma de pão — e não encontrou nada.
Tudo o que lhe restava era descolar a lanterna que o suspeito havia deixado como iluminação.
— Sachs — chamou Rhyme.
— Sim?
— Por que não chamamos funcionários da prefeitura para destampar o bueiro e você sai por lá? Você vai ter que vasculhar aquela área da rua de qualquer maneira. Sabemos que foi por lá que ele entrou, e que ele estava lá há cerca de cinco minutos. Poderia haver alguma pista.
Mas Sachs sabia que Rhyme havia sugerido aquilo para que ela pudesse evitar o túnel menor.
O caixão cilíndrico...
Sachs olhou para a cova escura. Agora parecia ainda menor.
— É uma boa ideia, Rhyme. Mas acho que vou sair por onde entrei.
Ela tinha vencido o medo uma vez; não o deixaria vencer agora.
Escorando-se em uma beirada irregular na parede de tijolos para sustentar seu peso, ela se apoiou e tomou impulso até estar perto da lanterna do suspeito. Pegou a tesoura cirúrgica do bolso e cortou a fita.
Ao puxá-la, Sachs desprendeu um punhado de pó acinzentado, que rapidamente percebeu ter sido deixado ali pelo criminoso como uma armadilha para os policiais. Por isso ele deixara a lanterna! O material caiu direto em seus olhos e, ao tentar desesperadamente se livrar daquilo, tirou do lugar o respirador N95 e acabou inalando uma grande quantidade da toxina.
— Não!
Engasgando, engasgando, afogando-se naquele pó ardente.
Imediatamente começou a sentir a queimadura. Ela caiu no chão e tombou para trás, quase tropeçando no corpo de Chloe.
A voz de Rhyme estava em seu ouvido.
— Sachs! O que foi isso? Não consegui ver.
Ela se esforçava para respirar, para limpar o veneno de seus pulmões.
Os ganchos farpados queimavam sua traqueia, seus olhos e seu nariz. Ela arrancou a máscara de proteção, cuspindo, ciente de que estava contaminando a cena, mas não conseguia parar.
Rhyme gritava. Estava difícil para ela ouvir, mas acreditava que ele falava com outra pessoa, provavelmente pelo telefone: — Mandem já os médicos para lá! Agora! Não importa. Centro de controle de venenos. Rápido.
Mas ela já não ouvia nada além da asfixia que a consumia.
No caminho de volta para sua oficina na Canal Street, a oeste de Chinatown, Billy Haven pensava na Garota Adorável novamente, depois de as lembranças de seu rosto, de sua voz e de seu toque terem surgido tão persistentemente durante a sessão de tatuagem com a Senhorita Pretenciosa, Chloe.
Estava pensando nas palavras que havia tatuado: o segundo. Nos contornos também.
Sim, um bom trabalho.
Uma Mod do Billy.
Ele havia tirado o macacão, que provavelmente fora contaminado com veneno (por que arriscar?), e o enfiara em um saco de lixo. Em seguida, jogara o saco numa caçamba de lixo longe da butique. Estava usando uma roupa comum por baixo: jeans preto e luvas de couro, também pretas. Seu casaco de lã cinza escuro. Era curto, batendo na coxa. Quente o suficiente e não tão comprido que pudesse interferir caso tivesse de correr para escapar de alguém, o que, como Billy estava ciente, era de fato bem possível em algum ponto ao longo dos próximos dias.
Na cabeça estava a máscara de esqui dobrada como um gorro, também de lã. Parecia com qualquer outro jovem de Manhattan indo até seu apartamento sob a chuva gelada, curvado, com frio.
A Garota Adorável...
Billy se lembrava de quando a viu pela primeira vez, há alguns anos. Foi em uma fotografia, na verdade, nem mesmo a menina propriamente dita.
Mas ele havia se apaixonado — sim, sim, à primeira vista. Não muito tempo depois, sua tia comentara: — Ah, ela é uma garota adorável. Você não poderia ter escolhido alguém melhor.
Billy imediatamente passou a usar aquela expressão como um apelido para sua amada.
A garota com a bela pele de marfim.
Semicerrando os olhos ao enfrentar aquele clima de merda — o vento lançando neve e chuva gelada em seu rosto —, Billy se encolheu ainda mais dentro do casaco. Concentrado em evitar blocos de gelo no chão. Isso era difícil.
Já fazia algumas horas que ele havia terminado sua tarefa com Chloe no túnel sob a butique. Permanecera nos arredores, ocultando-se nas sombras, para ficar atento à movimentação da polícia. Alguém tinha ligado para a emergência cerca de cinco minutos depois de ele ter saído pelo bueiro na Elizabeth Street. Os policiais chegaram aos montes, e Billy observara seus procedimentos. Havia analisado tudo e feito anotações mentais e, mais tarde, transcreveria seus pensamentos. Os Mandamentos da Modificação não foram redigidos como os bíblicos, é claro. Mas, se tivessem, um deles seria: Conheça teu inimigo como a ti mesmo.
Caminhando devagar, com cuidado. Ele era jovem e estava em boa forma, ágil, mas não podia arriscar cair no chão. Um braço quebrado seria desastroso.
A oficina de Billy não ficava muito longe do local do ataque, mas ele seguia por uma rota complicada de volta para casa, certificando-se de que ninguém o tinha visto perto do bueiro e o estivesse seguindo.
Deu a volta no quarteirão uma, então duas vezes, apenas por precaução, e voltou para o feio, antigo e abandonado armazém de quatro andares, agora uma estrutura semirresidencial. Ou seja, semilegal. Ou, talvez, completamente ilegal. Estamos falando do mercado imobiliário de Nova York, afinal de contas. Ele havia pagado o aluguel de curto prazo em dinheiro, uma grana alta. O corretor pegara o dinheiro com um sorriso e fizera questão de não perguntar nada.
Não que isso importasse. Billy estava preparado para contar uma história bastante verossímil, inclusive com documentos falsos.
Memorizarás tua história de fachada.
Então, tendo certeza de que a calçada estava deserta, Billy desceu por um pequeno lance de escadas até a porta. Três cliques de três fechaduras e já havia entrado, trocando a trilha sonora de buzinas de motoristas irritados presos no tráfego de Chinatown devido ao mau tempo pelo estrondo dos freios agudos de vagões de metrô que passavam debaixo da casa.
Sons do mundo subterrâneo. Reconfortante.
Billy ligou um interruptor e luzes mortiças preencheram o espaço de quarenta e oito metros quadrados — uma combinação de sala/quarto/cozinha/todo o resto. O cômodo dava uma sensação de masmorra. Uma parede era de tijolos, as outras erguidas com um gesso não muito robusto. Ele alugara outro imóvel, mais ao norte, um esconderijo, no qual havia planejado passar mais tempo do que aqui durante sua missão para a Modificação, mas a oficina acabou sendo mais confortável que o esconderijo, que ficava no meio de uma rua movimentada, repleta dos tipos de pessoas que ele desprezava.
A bancada estava cheia de copos, livros, seringas, peças de máquinas de tatuagem, sacos plásticos, ferramentas. Dezenas de livros sobre toxinas e milhares de documentos baixados da internet, alguns mais úteis que outros. O Guia de campo para plantas venenosas era magistralmente ilustrado, mas não possuía o mesmo nível de informação útil que o blog clandestino Acabe com eles: uma dúzia de receitas mortais para quando a revolução vier e tivermos que revidar! .
Tudo organizado com esmero sobre a bancada de trabalho, assim como em seu estúdio de tatuagem em sua terra natal. O canto oposto da sala agrupava luzes frias ultravioleta que iluminavam oito terrários. Billy se dirigiu até eles e examinou as plantas ali dentro. As folhas e flores o reconfortavam, eram recordações de seu lar. Brancas e róseas e roxas e verdes em milhares de tonalidades. As cores contrastavam com o tom fastidioso e lamacento da cidade, cujo espírito de ódio se ampliava a cada minuto no coração de Billy Haven. Malas continham mudas de roupa e produtos de higiene pessoal. Uma sacola de ginástica escondia muitos milhares de dólares, as notas separadas por valor, mas amassadas, antigas e completamente não rastreáveis.
Regou as plantas e passou alguns poucos minutos terminando o esboço de uma delas, uma combinação interessante de folhas e galhos. Ainda que tivesse desenhado a vida inteira, por vezes, Billy se perguntava de onde vinha aquele impulso. Em muitas ocasiões, ele simplesmente precisava pegar um lápis ou um giz de cera e transferir algo que fosse mortal para um lugar onde não iria sumir. Onde duraria para sempre.
Ele esboçara a Garota Adorável umas mil vezes.
O lápis agora pendia na mão e ele deixou o esboço de um galho inacabado, empurrando o bloco de papel para o lado.
A Garota Adorável...
Não conseguia pensar nela sem ouvir a voz sombria de seu tio, o grave barítono.
— Billy. Preciso falar uma coisa com você. — O homem o segurou pelos ombros e olhou fundo em seus olhos. — Aconteceu algo.
E, com aquelas simples, terríveis palavras, soubera que ela havia morrido.
Os pais de Billy também haviam morrido — apesar de isso ter acontecido anos antes e ele já ter superado, de certa forma, a perda.
Mas a morte da Garota Adorável? Não, nunca.
Ela seria sua companheira para sempre. Seria sua esposa, a mãe de seus filhos. Seria ela quem o salvaria de seu passado, de todo o mal, da Sala do Oleandro.
Morta, simples assim.
Mas hoje ele não estava pensando muito nas terríveis notícias, nem na injustiça toda do que havia acontecido, apesar de aquilo ter sido injusto.
E não estava pensando na crueldade, apesar de aquilo ter sido cruel.
Não, no momento, tendo acabado de tatuar Chloe, o pensamento de Billy era de que estava na estrada para a erradicação da dor.
A Modificação estava acontecendo.
Billy se sentou perto da instável mesa na área da cozinha do apartamento subterrâneo e tirou do bolso de sua camisa as páginas do livro que tinha encontrado naquela manhã.
Ouvira falar do exemplar havia semanas e sabia que iria querer uma cópia a fim de completar o planejamento para a Modificação. O livro estava esgotado; entretanto, tinha achado algumas cópias on-line por meio do dono de um sebo. Mas não podia encomendar uma delas usando o cartão de crédito e mandar entregar em sua casa. Então Billy vinha procurando em lojas de livros usados e bibliotecas. Havia dois exemplares na Biblioteca Pública de Nova York, mas não estavam em seu lugar correto nas pilhas de livros, nem na sede no centro de Manhattan nem na filial do Queens.
Mas ele tentara mais uma vez, na manhã de hoje, voltando de repente à biblioteca na Quinta Avenida.
E lá estava ele, no lugar certo e sistematicamente classificado da estante.
Billy puxou o livro da prateleira e ficou nas sombras, folheando.
Mal escrito, notara a partir de sua breve leitura entre as estantes. Uma capa absurdamente esplêndida em preto, branco e vermelho. Tanto o estilo quanto os gráficos ajudavam a explicar o motivo pelo qual o livro estava esgotado. Mas o que continha? Exatamente de que Billy precisava, preenchendo as partes do plano da mesma forma como agulhas de sombreamento ou planas completavam o espaço entre os contornos de uma tatuagem.
Billy ficara preocupado sobre como tirar o livro da biblioteca — ele não podia pegá-lo emprestado, é claro. E havia câmeras de segurança perto das máquinas de xerox. No fim das contas, ele decidiu cortar o capítulo que queria com uma lâmina de barbear. Com cuidado, fez um corte profundo no livro antes de escondê-lo para que ninguém mais pudesse encontrá-lo.
Sabia que o livro provavelmente continha um chip na lombada que faria o alarme nas portas dispararem caso ele tentasse sair por ali com o exemplar inteiro. Ainda assim, folheou todas as páginas cortadas, uma por uma, procurando por um segundo chip. Não havia nada, e ele saíra da biblioteca sem soar qualquer alarme.
Agora estava ansioso para estudar em detalhes as páginas, para ajudar com o resto dos planos para a Modificação. Mas, ao abri-las, franziu a testa.
O que era aquilo? A primeira página estava danificada, com o canto arrancado. Mas ele tinha certeza de que havia removido todas elas inteiras, desde a lombada, sem nenhum rasgo. Então reparou no bolso do peito de sua camisa e notou que ele também estava rasgado. Lembrou que Chloe havia rompido seu macacão quando tentara se defender. Era isso que tinha acontecido. Ela rasgara tanto a roupa quanto a página.
Mas o estrago não foi tão grande e apenas um pequeno trecho estava faltando. Billy lia atentamente agora. Uma, duas vezes. Na terceira ele tomou notas e as guardou dentro dos Mandamentos.
Útil. Bom. Bem útil.
Colocando as páginas de lado, respondeu algumas mensagens de texto e recebeu outras. Mantendo contato com o mundo exterior.
Agora era hora da limpeza.
Ninguém entende mais a importância de germes, bactérias e vírus que um artista da pele. Billy não estava nem um pouco preocupado em não infectar suas vítimas — na verdade, era essa a ideia central da Modificação —, mas sentia bastante receio em se infectar, com seja lá o que estivesse no sangue de seus clientes e, em particular, com as substâncias maravilhosas que ele usava no lugar da tinta.
Caminhou até a pia e abriu o zíper da mochila. Calçando luvas grossas, ele pegou a máquina de tatuagem American Eagle e a desmontou. Esvaziou os tubos de líquido e os lavou em dois galões de água diferentes, enxaguando-os várias vezes e secando-os com uma Conair. Derramou a água em um buraco que havia cavado no chão, deixando-a penetrar a terra sob o edifício. Não queria jogá-la no vaso e dar descarga, nem a despejar no ralo. Eis aquela pequena questão de ocultar evidências mais uma vez.
No entanto, essa limpeza era apenas o começo. Ele limpou cada peça da máquina com álcool (que apenas higieniza; não esteriliza). Submeteu as peças a um banho ultrassônico de desinfetantes. Depois disso, lacrou-as em sacos e as jogou em uma autoclave — um forno de esterilização.
Normalmente, as agulhas eram descartadas, mas estas eram muito especiais e difíceis de encontrar. Ele as jogou lá também.
Claro que o objetivo disso tudo não era só desinfetar para se proteger de venenos e infecções. Havia um motivo secundário também: qual maneira melhor de destruir qualquer ligação entre você e suas vítimas do que queimá-las a 130 graus Celsius?
Até mesmo bagunçaria aquela teoria da “poeira”, você não acha, monsieur Locard?
Lincoln Rhyme esperava impacientemente.
— E Amelia? — perguntou a Thom.
O assistente desligou o telefone fixo.
— A ligação não completa.
— Que droga. O que você quer dizer com isso, que a ligação não completa? Qual hospital?
— Manhattan General.
— Ligue de novo.
— Acabei de tentar. A ligação não completa. Está com algum problema.
— Isso é ridículo. É um hospital. Ligue para a emergência.
— Não se pode ligar para a emergência para descobrir o estado de um paciente.
— Eu ligo então.
Mas em seguida a campainha da porta tocou. Rhyme mandou Thom “atender a maldita porta” bruscamente e, pouco depois, ouviu passos no corredor.
Dois investigadores, os que ajudaram Sachs na perícia do homicídio na butique Chez Nord, entraram na sala carregando enormes caixas de papelão repletas de sacos de evidências — tanto de plástico como de papel.
Rhyme conhecia a mulher, a detetive Jean Eagleston, que balançou a cabeça em saudação, a qual ele retribuiu. O outro oficial, um grandalhão, disse: — Capitão Rhyme, é uma honra trabalhar com o senhor.
— Ex-capitão — murmurou Rhyme. Ele percebeu que o tempo deveria ter piorado: as jaquetas dos policiais estavam salpicadas com gelo e neve.
Observou que eles tinham envolvido as caixas de evidências em papel celofane. Bom.
— Como Amelia está? — perguntou Eagleston.
— Não sabemos de nada ainda — murmurou Rhyme.
— Se houver qualquer coisa que pudermos fazer — disse seu parceiro corpulento —, é só nos chamar. Onde você quer que eu coloque isso? — Um olhar para as caixas.
— Entregue para Mel.
Rhyme se referia ao mais novo integrante da equipe, que acabara de chegar.
Magro e de comportamento reservado, o detetive Mel Cooper do Departamento de Polícia de Nova York era um profissional renomado do laboratório forense. Rhyme azucrinaria qualquer pessoa, até o próprio prefeito, para conseguir que Cooper fosse designado a ele, especialmente num caso como esse, em que toxinas pareciam ter sido a arma do crime.
Com formação acadêmica em matemática, física e química orgânica, Cooper era perfeito para a investigação.
O técnico forense cumprimentou Eagleston e seu parceiro com um aceno de cabeça; assim como ele, trabalhavam na vasta perícia forense da polícia de Nova York no Queens. Apesar do clima hostil e do frio na sala, Cooper usava uma camisa branca de manga curta com calças pretas largas, dando-lhe a aparência de um élder mórmon panfleteiro ou de um professor de ciências do ensino médio. Seus sapatos eram Hush Puppies. As pessoas geralmente não ficavam surpresas ao saber que ele morava com a mãe; a surpresa vinha quando conheciam sua bela e imponente namorada escandinava, uma professora da Universidade Columbia. Ambos eram exímios dançarinos de salão.
Cooper, de jaleco, luvas de látex, óculos protetores e máscara, indicou uma mesa de análise de evidências vazia. Seus colegas deixaram as caixas em cima dela e em seguida se despediram, saindo mais uma vez pela tempestade.
— Você também, novato. Veja o que temos.
Ron Pulaski pegou equipamentos de proteção semelhantes e se aproximou da mesa para ajudar.
— Cuidado — disse Rhyme, o que não era necessário, já que Pulaski tinha feito aquilo uma centena de vezes e ninguém era mais cuidadoso com as evidências que ele.
Mas o cientista forense estava distraído; seus pensamentos se voltaram para Amelia Sachs. Por que ela não ligava? Ele se lembrou de ter visto o pó sendo despejado sobre a lente da câmera de vídeo ao mesmo tempo que atingia o rosto dela. Lembrou-se dela se asfixiando.
Então: uma chave na fechadura.
Um momento depois. Vento. Uma tosse. Um pigarro.
— Bem? — perguntou Rhyme.
Amelia Sachs contornou o canto da sala, tirando a jaqueta. Uma pausa.
Mais tosse.
— Bem? — repetiu ele. — Você está bem?
Como resposta, Sachs tomou um gole de uma garrafa d’água que Thom ofereceu a ela.
— Obrigada — disse ela ao jovem. Em seguida, disse a Rhyme: — Tudo bem — com sua voz baixa e aveludada, agora ainda mais baixa e mais aveludada que o normal. — Mais ou menos.
Rhyme sabia que ela não havia sido envenenada. Ele tinha falado com o paramédico especialista em toxinas enquanto ela era conduzida ao Manhattan General Medical Center. Seus sintomas eram atípicos em casos de envenenamento, relatara o paramédico; até o momento em que a ambulância chegara ao pronto-socorro, apresentava apenas tosse excessiva e lacrimação, tendo os olhos lavados diversas vezes com água. O suspeito tinha criado uma armadilha não letal — mas o agente irritante poderia tê-la cegado ou provocado estragos aos pulmões.
— O que foi, Sachs?
Ela agora explicava que amostras tiradas de membranas e mucosas e um hemograma ultrarrápido revelaram que o “veneno” era pó, composto em sua grande maioria de óxido de ferro.
— Ferrugem.
— Foi o que eles disseram.
Ter descolado a fita adesiva grudada numa velha capa de metal, onde o suspeito colocara a lanterna, havia desalojado um punhado da substância, que caíra no rosto de Sachs.
Como cientista forense, Rhyme estava familiarizado com Fe2O3, mais conhecido como óxido de ferro (III). Ferrugem é um oligoelemento maravilhoso, visto que possui propriedades adesivas e se transfere prontamente com muita facilidade do criminoso para a vítima e vice-versa.
Pode ser tóxica, mas somente em quantidades elevadas — mais que 2.500mg/m^3. Para Rhyme, a ferrugem não estava tão concentrada a ponto de indicar intenção criminosa. Ele instruiu Pulaski a ligar para o departamento de obras públicas para descobrir se o pó de óxido de ferro era comum nos túneis.
— Sim — informou o jovem oficial após completar a ligação. — A cidade tem instalado tubulações em toda Manhattan, por causa do novo aqueduto.
Alguns dos encanamentos sendo removidos têm 150 anos. Acabam acumulando uma grande quantidade de poeira. Todos os operários estão usando máscaras, de tão ruim que está a coisa.
Então o suspeito tinha apenas calhado de escolher um desses canos para montar a lanterna.
Sachs tossiu um pouco mais e bebeu um gole ou dois de água.
— Estou irritada por ter me descuidado.
— E, Sachs, estávamos esperando que você ligasse.
— Eu tentei. As linhas estavam mudas. Um dos técnicos da operadora de telefone disse que era um problema de internet que também estava ferrando as caixas de telefonia. Isso está acontecendo há uns dois dias.
Alguma disputa entre as empresas de serviço a cabo e as novas de fibra óptica. Guerra territorial. Estão falando até em sabotagem.
O olhar de Rhyme dizia: quem se importa?
Com outra tossida fraca e grave, Sachs se vestiu para o laboratório e caminhou até onde estavam as caixas de evidências.
— Vamos montar nossos quadros.
Rhyme apontou para a fileira de grandes quadros brancos posicionados de pé, como garças com suas pernas finas e compridas. Serviam para listar as evidências em um caso. Apenas um estava preenchido: o caso do recente assalto perto da prefeitura que virou um homicídio. O homem que, antes de sair, havia feito a barba tão cuidadosamente para ir a um encontro romântico, mas acabou sendo assaltado e morto.
Sachs colocou aquele quadro em um canto e puxou um limpo até o centro do salão. Pegou uma caneta marcador apagável e perguntou: — Como vamos chamá-lo?
— Estamos em novembro, dia 5. Vamos manter nossa tradição. Suspeito Desconhecido Cinco-Onze.
Sachs tossiu uma vez, balançou a cabeça, então escreveu com sua letra firme:
Elizabeth Street, 237
Vítima: Chloe Moore
Rhyme olhou para o espaço em branco.
— Agora vamos começar a preenchê-lo.
Antes que pudessem chegar às evidências, entretanto, a campainha tocou mais uma vez.
Com o uivo familiar do vento e a neve caindo como uma metralhadora, a porta se abriu e se fechou. Lon Sellitto entrou na sala, como um furacão, sem limpar os pés no capacho.
— Está piorando. Cara. Que bagunça.
Rhyme ignorou o relato sobre a condição do tempo.
— E os vídeos das câmeras de segurança?
Referindo-se a qualquer uma das câmeras de vigilância na Elizabeth Street perto do bueiro que o assassino tinha usado para conseguir acesso ao local do crime. E onde ele havia, aparentemente, espionado Sachs.
— Nadica.
Rhyme se encrespou.
— Mas havia uma testemunha.
Outra expressão azeda de Rhyme.
— Eu não culpo você, Linc. Mas é tudo o que temos. Um cara voltando para casa depois do trabalho viu alguém em cima do bueiro dez minutos antes de ligarem para a emergência.
— Depois do trabalho — repetiu Rhyme cinicamente. — Então sua testemunha estava cansada.
— Sim, porra, e uma testemunha cansada que viu o assassino é melhor que uma descansada que não viu nada.
— Nesse caso ele não seria uma testemunha — replicou Rhyme. Uma olhada no quadro de evidências. Então: — O bueiro estava aberto?
— Isso. Cones laranjas e fitas de isolamento da polícia ao redor.
— Como eu pensei — disse Rhyme. — Então ele tira a tampa com um gancho, coloca os cones, desce, mata a vítima e foge. — Vira-se para Sachs.
— Umidade na base da escada, você disse. Logo, ele manteve a tampa aberta o tempo todo. O que aconteceu com os cones e com a fita?
— Não tinha nada lá — respondeu Sachs. — Não quando eu saí.
— Ele não deixaria tudo jogado ali por perto. Esperto demais para isso.
Lon, o que sua testemunha disse sobre o assassino?
— Homem branco, gorro, casaco escuro à altura da coxa. Mochila preta ou escura. Não viu muito do rosto. Mais ou menos a mesma descrição do cara no bueiro que Amelia viu quando estava vasculhando a cena no subsolo.
Aquele que observara Sachs. Que havia escapado pela multidão na Broadway.
— E evidências na rua?
— Naquela tempestade? — retrucou Sachs.
O clima era um dos clássicos contaminantes de evidências e um dos mais inconvenientes. E, na cena perto do bueiro, houvera outro problema: as pegadas e os equipamentos do pessoal da emergência teriam destruído qualquer evidência que restasse enquanto eles se apressavam para colocar Sachs na ambulância, após o envenenamento pela armadilha que, no fim das contas, não se tratava de uma.
— Então vamos eliminar aquela parte da cena e nos concentrar no subsolo. Primeiro, no porão da butique.
Jean Eagleston e seu parceiro tiraram fotos e vasculharam o porão e a pequena despensa, mas haviam encontrado muito pouco lá. Mel Cooper examinou os vestígios que recolheram. Relatou: — Batem com as amostras do porão. Nada de útil nisso.
— Tudo bem. A grande questão: qual foi o resultado do exame toxicológico? Causa da morte.
Estavam partindo do pressuposto de que a causa da morte fora veneno, mas isso não seria confirmado até o médico-legista concluir a análise. Sachs havia ligado para o legista chefe e exigido que enviasse um relatório preliminar o mais rápido possível. Precisavam saber qual eram a toxina e o sedativo que o criminoso provavelmente dera a Chloe para fazê-la perder os sentidos. Sachs havia ressaltado o caráter de urgência, argumentando que eles acreditavam que esse homicídio era o início de uma onda de assassinatos em série. O legista, relatou ela, parecia muito sobrecarregado, como geralmente acontece com médicos, especialmente aqueles da rede pública, mas ele prometera colocar o caso de Chloe Moore na frente da fila.
Mais uma vez abrasado pela impaciência, Rhyme perguntou: — Sachs, você coletou vestígios no local da tatuagem?
— Claro.
— Processe esses vestígios, Mel, e vejamos se conseguimos antecipar alguma informação sobre o veneno.
— Pode deixar.
A ferramenta que Cooper usou para essa análise foi o cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa — dois grandes instrumentos adjuntos, posicionados no canto da sala de estar. A parte de cromatografia gasosa do equipamento analisava uma amostra desconhecida do vestígio através da separação de cada elemento químico que ele contém com base em sua volatilidade — isto é, o tempo que leva para evaporar. A cromatografia separa as partes componentes; o segundo dispositivo, o espectrômetro de massa, identifica as substâncias através da comparação de sua estrutura única com um banco de dados de produtos químicos já conhecidos.
Ligando a máquina barulhenta e quente — as amostras são, para todos os fins, queimadas —, Cooper logo conseguiu resultados.
— Cicutoxina.
O Departamento de Polícia de Nova York possuía uma extensa base de dados sobre toxinas, a qual Rhyme tinha usado ocasionalmente quando fora diretor de Recursos Investigativos — o antigo nome para a Perícia Forense — embora, naquela época, assassinato por envenenamento fosse incomum, e ainda mais agora. Cooper leu por alto o artigo sobre a substância. Ele resumiu: — Vem de uma planta chamada cicuta. Ataca o sistema nervoso central.
Chloe teria sofrido uma forte náusea, vômitos, podemos ver a formação de espuma também. Espasmos musculares. — Ergueu o olhar. — É uma das plantas mais letais da América do Norte. — Olhou na direção da máquina.
— E foi destilada. Não há registros desse nível de concentração.
Normalmente, leva algum tempo para matar após ter sido administrada.
Nesse nível? Ela estaria morta em meia hora, um pouco mais, talvez.
— Foi o que algum grego famoso usou para se matar, não foi? — perguntou Pulaski.
— Não exatamente — respondeu Cooper. — Tipo diferente de cicuta.
Entretanto, ambas da família da cenoura.
— Quem se importa com Sócrates? — vociferou Rhyme. — Vamos nos concentrar aqui. Alguém mais, além de mim, percebe alguma coisa preocupante sobre a fonte?
— Ele pode ter achado isso em qualquer campo ou pântano do país — disse Sachs.
— Exatamente.
Uma substância comercial que fosse tóxica, como aquelas usadas em processos industriais e adquiridas com facilidade nos mercados, poderia ser rastreada até um fabricante e então até um comprador. Algumas até possuíam etiquetas químicas que poderiam levar os investigadores a recibos com o nome do criminoso neles. Mas isso não aconteceria se ele estivesse coletando sua arma da própria terra.
Impossível determinar de onde vinha a planta. E presumia-se que, sendo novembro, ele a havia colhido fazia muito tempo. Ou poderia até tê-la cultivado em uma estufa no porão.
Igualmente preocupante era o fato de que ele, de alguma forma, condensara-a até criar uma forma particularmente virulenta da toxina.
Ron Pulaski calhou de estar de pé ao lado do quadro branco. Rhyme disse a ele: — Acrescente isso à lista com sua letra concisa, novato, da qual as Irmãs da Igreja do Coração Cético ficariam extremamente orgulhosas.
O humor de Rhyme tinha melhorado consideravelmente agora que havia desafios a enfrentar, mistérios para desvendar... e algumas evidências para analisar.
— Não havia nenhuma impressão digital — continuou Sachs.
Rhyme não acreditava que encontrariam impressões digitais. Não, o criminoso era esperto demais para isso.
— Nem fios de cabelo. Encontrei alguns pelos de rato e alguns fios do cabelo de Chloe, mas nenhum outro, então suponho que ele tenha usado uma touca além do gorro.
Gorros apertados tendiam mais a soltar cabelos do que a prevenir que caíssem, especialmente os de lã ou nylon, visto que a pessoa tenderia a coçar ou esfregar as comichões. Rhyme calculou que o criminoso tivesse noção disso e tomara outras precauções, mais cuidadosas, para manter evidências de fibras e DNA para si mesmo.
— A análise preliminar para agressão sexual foi negativa — prosseguiu Sachs —, embora o legista possa achar outra coisa. Mas órgãos genitais e regiões sexuais secundárias não parecem ter sido tocados. A não ser pela região do abdômen — olhou para as fotografias —, ela estava completamente vestida, mas, quando passei o bastão de luz negra no corpo dela, encontrei algo interessante: dezenas de pontos onde ele tocou sua pele, acariciou-a. Mais que apenas para tensionar a pele e tatuar. E ela possuía uma pequena tatuagem no pescoço. Uma flor. — Sachs exibiu a foto no monitor de alta definição de Rhyme. — Ele passou a mão ali algumas vezes, pelo que indicou o bastão de luz.
— Mas não foi um toque de cunho sexual? — balbuciou Sellitto.
— Não num sentido tradicional — frisou Sachs. — Ele pode ter um fetiche ou uma parafilia. Minha impressão é de que ele estava fascinado pela pele de Chloe. Ele queria tocá-la. Ou era impelido a fazer isso.
— Impelido? — questionou Rhyme. — Essa análise está ficando um pouco duvidosa para mim, Sachs. Um pouco emocional demais. Anotado, mas vamos seguir em frente.
Eles partiram para a análise dos vestígios, substâncias que Sachs tinha encontrado perto do corpo, comparando-as com as amostras de controle do túnel, tentando isolar aquelas que eram exclusivamente do suspeito.
Cooper manteve o cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa ligado.
— Ok, agrupados, temos óxido nítrico, ozônio, ferro, manganês, níquel, prata, berílio, organoclorado e acetileno.
Rhyme assentiu.
— Aqueles que estavam perto do corpo?
— Exato. — Sachs lançou um olhar sobre seu detalhado cartão da cadeia de custódia que apontava a localização exata de cada amostra.
— Hum — resmungou ele.
— O que foi, Linc? — perguntou Sellitto.
— São materiais usados em soldagem. Soldagem oxicombustível, principalmente. Talvez sejam do suspeito, mas acho mais provável que sejam dos operários que instalaram o encanamento. Mas vamos colocá-los na lista de qualquer modo.
Cooper selecionou outra amostra. Era do chão, perto da escada do bueiro. Quando a análise foi concluída, o técnico franziu a testa.
— Bem, pode ser que haja algo aqui.
Rhyme suspirou. Compartilhe então, por favor e obrigado, parecia dizer seu sorriso carregado.
Mas Cooper não faria nada com pressa. Ele leu com cuidado o espectrômetro de massa — a análise do computador a partir dos instrumentos.
— É tetrodotoxina.
Rhyme estava intrigado.
— Ah, sim, temos de fato alguma coisa aqui. Outra possível arma do crime.
— Veneno, Linc? — perguntou Sellitto.
— Ah, certamente — respondeu Mel Cooper. — Um bem forte. Vem dos ovários do baiacu. É uma neurotoxina sem antídoto conhecido. Sessenta pessoas, ou mais, morrem por ano no Japão ao comê-lo... intencionalmente.
Em doses pequenas, você pode ter um barato até . . e sobreviver para pagar a conta. E, só para constar, a tetrodotoxina é a droga zumbi.
— A droga o quê? — perguntou Sellitto, dando uma risada.
— Sério, igual aos filmes — acrescentou Cooper. — No Caribe, as pessoas a usavam para reduzir a frequência cardíaca e a respiração a ponto de parecerem estar mortas. Em seguida, voltavam à vida. Seja para rituais religiosos ou para dar um golpe em alguém. Antropólogos acreditam que essa pode ter sido a fonte do mito dos zumbis.
— Apenas o tipo de diversão de uma noite de sábado entediante no Haiti — murmurou Rhyme. — Poderíamos voltar ao ponto? O foco. A mensagem.
Cooper ajeitou os óculos no nariz.
— Quantidade muito pequena de vestígios.
— A não ser que o legista encontre um pouco no sangue de Chloe, o suspeito provavelmente está planejando usá-lo em um ataque futuro. — Rhyme contorceu o rosto. — E onde ele conseguiu a tetrodotoxina?
Provavelmente pescou um baiacu por si só. Como cultivou a cicuta.
Continue, Mel.
Cooper estava lendo o cartão da cadeia de custódia de Sachs.
— Aqui está algo proveniente de uma pegada, dele, suponho, já que estava perto da escada. E obscurecida.
Sapatilhas descartáveis...
— Isso mesmo — confirmou Sachs. Cooper lhe mostrou o espectro de massa e ela balançou a cabeça, então transcreveu a análise do computador para o quadro branco.
- Estercobilina, ureia 9,3g/L, cloro 1,87g/L, sódio 1,17g/L, potássio 0,750g/L, creatinina 0,670g/L
— Merda — resmungou Rhyme.
— O que foi? — perguntou Pulaski.
— Não — respondeu Rhyme. — Literalmente. Material fecal. Por que isso? Por que estava lá? Alguma dedução, meninos e meninas?
— Havia tubulações do Departamento de Saneamento, mas não notei nenhuma presença de esgoto no chão nem nas paredes. Provavelmente não veio de lá.
— Parques onde pessoas passeiam com cães? — sugeriu Sellitto. — Ou ele tem um cachorro.
— Por favor — interrompeu Rhyme, tentando não revirar os olhos. — Esses produtos químicos sugerem merda humana. Poderíamos fazer um exame de DNA, mas isso seria perda de tempo. E não temos tempo a perder.
— Talvez de um banheiro, pouco antes de ele chegar à cena do crime?
— Talvez, novato, mas acredito que ele tenha trazido isso de algum lugar lá pelo sistema de esgoto. Acho que isso nos diz que ele anda passando muito tempo no subterrâneo de Nova York. Esse é o seu lugar de abate. Ele se sente confortável lá. E, se não havia nenhum vazamento de esgoto na cena de Chloe Moore, isso significa que ele já tem alguns outros locais selecionados. E isso também nos diz que ele está escolhendo seus alvos com antecedência.
O telefone da sala tocou. Sachs atendeu. Conversou por alguns segundos e depois desligou.
— O legista. Sim, a causa da morte foi cicutoxina, e nenhum traço de tetrodotoxina. Você estava certo, Mel: oito vezes mais concentrada do que encontraríamos em uma planta. E ele a sedou com propofol. No pescoço e no braço. Dois pontos de injeção.
— Um medicamento com prescrição — observou Rhyme. — Não dá para cultivar esse tipo de coisa no quintal. Como ele tem acesso a isso? Bem, coloque no painel e continuemos. A tatuagem em si. Isso é o que realmente me deixa curioso.
Rhyme olhou para a foto que Sachs havia tirado: sem tinta, mas fácil de ver na pele vermelha e inflamada. Uma imagem muito mais nítida do que a que ele tinha visto através da câmera na escura cena do crime.
— Cara — disse Ron Pulaski —, bela tatuagem.
— Não conheço o mundo dos tatuadores — comentou Rhyme. — Mas me pergunto se não seria apenas um número limitado de artistas que conseguiria tatuar isso em tão pouco tempo.
— Vou visitar alguns dos maiores estúdios da cidade — declarou Sellitto. — Ver o que consigo encontrar.
Rhyme refletiu.
— Aquelas linhas. — Apontou para as bordas em formato de concha acima e abaixo das palavras. — Você estava certa, Sachs. Elas parecem ter sido cortadas, não tatuadas. Como se ele tivesse usado uma lâmina de barbear ou um bisturi.
— Só a merda de um enfeite decorativo — murmurou Sellitto. — Que cretino.
— Vai para o gráfico. Não sei o que deduzir disso. Agora, e as palavras: “o segundo”. Significados? Ideias?
— A segunda vítima? — sugeriu Pulaski.
Sellitto riu.
— Esse cara com certeza não está encobrindo os rastros.
Provavelmente já teríamos ouvido falar se houvesse uma vítima número um, vocês não acham? Aposto que a CNN já teria dado a notícia.
— Sim, é verdade. Eu não estava pensando direito.
Rhyme se voltou para a fotografia.
— Não é o suficiente para tirar conclusões nesse momento. E onde está o resto da mensagem? A impressão que tenho é que alguém que domine tanto a arte da caligrafia também saiba ortografia e gramática. Letra minúscula no artigo “o”. Então, alguma coisa o precede. Não há nenhum ponto final, portanto, vem algo mais depois.
— Me pergunto se talvez não seja uma frase que ele inventou — arriscou Sachs. — Ou uma citação. Um enigma?
— Não faço ideia... Lon, mande alguns policiais da central procurarem nos bancos de dados.
— Boa ideia. Eficiente: uma força-tarefa só para encontrar “o segundo”
em um livro ou algo do tipo? Você acha que isso nunca apareceu antes, Linc?
— Primeiro, Lon, fazer aspas com os dedos não é algo meio batido? E, mais ao ponto: que tal isso? Mande procurar nas citações famosas sobre crimes, assassinos, tatuagens, o subterrâneo de Nova York. Mande-os usar a imaginação!
— Tudo bem — resmungou Sellitto. — “O segundo”. E o número, o numeral ordinal dois.
— Hum — murmurou Rhyme, meneando a cabeça. Ele não tinha pensado nisso.
O volumoso detetive fez uma ligação, levantando-se e caminhando para o canto da sala e, pouco depois, começou a latir ordens. Desligou e voltou.
— Vamos continuar — disse Rhyme aos demais.
Depois de mais análises de vestígios, Mel Cooper anunciou: — Temos várias ocorrências de cloreto de benzalcônio.
— Ah — disse Rhyme. — Isso é um composto de amônio quaternário.
Um desinfetante industrial básico, usado principalmente onde há preocupação especial com exposição a bactérias e pessoas vulneráveis a ela. Cantinas escolares, por exemplo. Coloque no quadro.
— Látex adesivo — continuou Cooper.
Rhyme acrescentou que o produto era utilizado em tudo, de ataduras a construção civil.
— Genérico?
— Sim.
— Mas é claro — resmungou Rhyme. Cientistas forenses preferiam trabalhar com produtos de marca. Era mais fácil de extrair dali um fabricante ou um fornecedor.
O técnico realizou testes adicionais. Depois de alguns minutos, voltou-se para a tela do computador.
— Bom, bom. Resultados conclusivos para um tipo de pedra. Mármore.
Especificamente mármore Inwood.
— Em qual forma? — perguntou Rhyme. — Projete na tela.
Cooper o fez, e Rhyme descobriu que eles estavam diante de pó e grãos de tamanhos variados, brancos, esbranquiçados e bege. O técnico disse: — Fragmentados. Consegue ver a beirada naquele pedaço no canto superior esquerdo?
— Estão mesmo — respondeu Rhyme. — Coloque para assar!
O cientista analisou uma amostra no aparelho e anunciou: — Deu positivo para resíduo de Tovex.
— Tovex? — surpreendeu-se Sellitto. — Explosivo comercial.
Rhyme balançava a cabeça.
— Eu tinha a sensação de que encontraríamos algo do tipo. Usado para explodir alicerces compostos de rocha. Considerando o dano sofrido pelos grãos de mármore, o suspeito adquiriu aquele vestígio de um canteiro de obras ou perto de um. De algum lugar onde havia bastante mármore Inwood. Ligue para a prefeitura e pergunte sobre licenças para detonações, novato. E, em seguida, cruze referências com o banco de dados geológico da área. Agora, o que mais?
A raspagem sob as unhas de Chloe Moore não revelou a presença de pele, apenas de tecidos esbranquiçados de algodão e fibras de papel.
— Chloe deve ter se defendido dele e acumulou esses vestígios durante a briga — explicou Rhyme a Sellitto. — Pena que ela não arrancou um pedaço de pele. Cadê o DNA quando se precisa dele? Coloque no painel, e vamos continuar.
A silver tape que o suspeito tinha usado para prender os pés de Chloe era genérica; as algemas também. E a lanterna — o foco de luz que iluminava seu trabalho — era feita de plástico fajuto. Nem a lanterna nem as pilhas D dentro dela continham impressões digitais, nem pelos nem outros vestígios, exceto um pouco de substância aderente semelhante à utilizada em rolos adesivos; exatamente aqueles que investigadores utilizam para coletar vestígios. Como Sachs havia especulado, ele provavelmente tinha se limpado com um desses antes de chegar à cena do crime.
— Esse garoto é ainda melhor do que eu pensava — comentou Rhyme.
Consternação misturada com certa admiração.
— Agora, havia alguma tomada lá embaixo, Sachs? Não me lembro.
— Não. Os refletores que os bombeiros instalaram eram a bateria.
— Então a pistola de tatuagem dele deveria ser a bateria também.
Novato, quando der uma pausa na sua missão do mármore, descubra fabricantes de dispositivos de tatuagem movidos a bateria.
Pulaski se voltou para o computador, dizendo: — Não vão ser muitos com sorte.
— Isso não faria diferença.
— O quê?
— Saber se um fabricante de pistolas de tatuagem tem sorte ou não.
— Mas... hein? — Sellitto sorria. Ele sabia o que estava por vir.
Rhyme continuou: — Você disse “com sorte”, que é uma locução adjetiva, mas não se inseriu como sujeito da frase, com “Se eu tiver sorte” ou algo assim. O único sujeito, oculto, é “fabricantes”; logo, seriam eles que teriam sorte. É um erro gramatical comum.
A cabeça do jovem policial pendeu para um lado, depois para o outro.
— Lincoln, às vezes acho que estou em um filme do Tarantino quando falo com você.
As sobrancelhas de Rhyme arquearam. Continue.
— Você sabe — resmungou Pulaski —, aquela cena em que dois pistoleiros estão indo dar cabo de alguém, mas falam e falam e falam por dez minutos sobre como estar “ansioso” e estar “apreensivo” não são a mesma coisa, ou sobre como estar “desinteressado” não significa estar “indiferente”. Dá vontade de dar um tapa neles.
Sachs tossiu e riu ao mesmo tempo.
— Esses dois usos indevidos me incomodam muito também — murmurou Rhyme. — E bom trabalho por saber a diferença. Agora, esse último pedaço de evidência. É nisso que estou mais interessado.
Rhyme se virou para o saco de coleta, pensando que agora teria que descobrir quem era esse tal de Tarantino.
Mel Cooper abriu com cuidado, sobre uma mesa de análise, o único saco de provas que restava. Usando uma pinça, retirou a bola de papel amassado.
Começou a desembrulhá-lo. Lentamente.
— Onde estava isso, Amelia? — perguntou.
— A cerca de um metro do corpo. Embaixo de uma dessas caixas amarelas.
— Eu vi — disse Rhyme. — RIFO. Rede elétrica, telefone, eu acho.
O papel pertencia ao canto superior de uma publicação e fora arrancado. Tinha cerca de sete centímetros e meio de comprimento por cinco de altura. As palavras na parte da frente, na página da direita, eram estas:
rie
que sua maior habilidade era a capacidade de antecipar
Na página de trás:
o corpo foi encontrado.
Rhyme olhou para Cooper, que operava um microscópio Bausch + Lomb a fim de comparar as fibras de papel a partir dessa amostra com aquelas encontradas sob as unhas da vítima.
— Podemos associá-los. Provavelmente vindos da mesma fonte. E não havia outras amostras das fibras de tecido sob as unhas na cena do crime.
— Assim, presume-se que ela rasgou esse pedaço de papel durante uma luta com ele.
— Por que ele estaria carregando isso? — perguntou Sellitto. — O que era?
Rhyme notou que o papel usado na impressão não possuía revestimento, de modo que o pedaço provavelmente não pertencia a uma revista.
Também não era papel de jornal, portanto a matriz não devia ser um periódico diário, semanal nem um tabloide.
— Talvez seja de um livro — anunciou ele, olhando para o pedaço triangular.
— Mas onde ele teria conseguido esse livro? — perguntou Pulaski.
— Boa pergunta: se o pedaço estava no bolso do nosso suspeito e ela o rasgou enquanto lutava com ele, como as páginas podem ser de um livro?
— Exato.
— Porque acho que ele arrancou páginas importantes do livro e as carregava no bolso. Quero saber de onde vem aquele pedaço de papel.
— Da maneira mais fácil? — sugeriu Cooper.
— Ah, o Google Books? Certo. Ou seja lá como se chama aquela coisa, esse serviço on-line que tem noventa por cento, ou sei lá quantos por cento, dos livros do mundo em um banco de dados. Claro, tente.
Porém, para a surpresa de ninguém, a procura não gerou resultados.
Rhyme não conhecia muito do funcionamento das leis de direito autoral, mas suspeitou que houvesse muitos autores de livros ainda protegidos pelo Código dos Estados Unidos, que não queriam compartilhar o suor de seu trabalho criativo sem receber royalties.
— Então da maneira mais difícil — anunciou Rhyme. — Como eles chamam aquilo que os hackers fazem? Ataque de força bruta? — Ele refletiu por um momento e então acrescentou: — Mas talvez a gente possa restringir a busca. Vejamos se conseguimos descobrir quando ele foi impresso e procurar livros publicados em torno dessa data que tratem de, para começar, crimes. Estar escrito “o corpo foi encontrado” é uma pista.
Agora, vamos obter uma data.
— Datação por carbono? — perguntou Ron Pulaski, fazendo Mel Cooper abrir um sorriso. — O quê? — perguntou o jovem policial.
— Não leu o meu capítulo sobre radiocarbono, novato? — perguntou, referindo-se ao livro de Rhyme sobre ciência forense.
— Na verdade, eu li, Lincoln.
— E?
— A datação por carbono é a comparação do não degradante carbono-12 com o degradante carbono-14, o que dá uma ideia da idade do objeto que está sendo testado — recitou Pulaski. — Eu disse “ideia”; acredito que você tenha dito “aproximação”.
— Ah, bem citado. Pena que você se esqueceu da nota de rodapé.
— Ah, havia notas de rodapé?
— A margem de erro de uma datação por carbono é de trinta a quarenta anos. E isso com amostras recentes. Se o nosso criminoso carregasse no bolso um capítulo impresso em papiro ou em pele de dinossauro, a margem seria maior. — Rhyme acenou com a cabeça em direção ao pedaço de papel.
— Portanto, não, datação por carbono não é o caso aqui.
— Pelo menos nos diria se foi impresso nos últimos trinta ou quarenta anos.
— Bem, isso a gente sabe — retrucou Rhyme. — Estou quase certo de que foi impresso nos anos 1990. Quero algo mais específico.
Agora Sellitto franzia o cenho.
— Como você sabe a década, Linc?
— O tipo de fonte. Ela se chama Myriad. Criada por Robert Slimbach e Carol Twombly para a Adobe Systems. Tornou-se a fonte da Apple.
— Para mim, parece uma fonte sem serifa qualquer — comentou Sachs.
— Observe a declinação do “y” e o “e” inclinado.
— Você estudou isso? — perguntou Pulaski, como se uma grande brecha em sua educação forense ameaçasse sugá-lo como um todo.
Há alguns anos, Rhyme tinha investigado um caso de sequestro no qual o criminoso criara uma carta de resgate cortando as letras de uma revista.
Ele usara caracteres tanto de manchetes editoriais quanto de algumas propagandas. Correlacionando os tipos de fontes entre dezenas de revistas e logotipos de anunciantes, Rhyme havia concluído que os recortes vinham de uma edição em particular da Atlantic Monthly. Um mandado para conseguir a lista de assinantes — e algumas outras evidências — levou os policiais até a casa do criminoso e ao resgate da vítima. Ele explicou isso a Pulaski.
— Mas como podemos datar isso de forma mais específica? — perguntou Sellitto.
— A tinta — respondeu Rhyme.
— Marcas? — perguntou Cooper.
— Duvido.
Nos anos 1960, os fabricantes de tinta começaram a adicionar marcas (sinais químicos, como faziam os produtores de explosivos) para que, caso acontecesse um crime, a amostra de tinta pudesse ser facilmente rastreada até uma única fonte ou pelo menos a uma marca de tinta ou caneta. (O motivo principal dessa marcação era rastrear falsificadores, mas a técnica também incriminou uma boa quantidade de sequestradores e assassinos psicopatas que deixavam mensagens nas cenas de seus crimes.) Mas a tinta usada para impressão de livros, como nessa amostra, era vendida em grandes quantidades, e quase nunca eram marcadas.
Então, explicou Rhyme, eles precisavam comparar a composição dessa tinta em particular com aquelas no banco de dados da polícia.
— Extraia a tinta, Mel. Vamos descobrir do que ela é feita.
Da estante de instrumentos em cima das mesas para exame de evidências, Cooper selecionou uma seringa hipodérmica modificada, com a ponta levemente raspada. Furou o pedaço de papel com ela sete vezes. Os pequenos círculos resultantes, todos contendo amostras de tinta, ele embebeu em piridina para extrair a tinta. Enxugou a solução até ela se tornar um resíduo poeirento, o qual então ele analisou.
Cooper e Rhyme avaliaram a cromatografia resultante — um gráfico de barra com altos e baixos representando a tinta usada na impressão do livro misterioso.
Sozinha, a análise não significava nada, mas ao passarem os resultados através de um banco de dados, descobriram que a tinta era similar àquelas utilizadas na produção de livros comerciais adultos de 1996 até 2000.
— Adultos? — indagou Pulaski.
— Não, não o seu tipo de livros adultos — disse Sellitto, dando uma risada.
— Meus... — O policial enrubesceu. — Peraí.
— Isso significa livros que não são para o público infanto-juvenil — continuou Rhyme. — Livros realmente voltados para adultos. E o papel?
Verifique a acidez.
Cooper executou uma análise básica de pH, usando um pequeno canto do papel.
— É bastante ácido.
— Isso quer dizer que vem de um livro comercial comum e não de uma edição econômica, como as que são impressas em papel jornal. E é comercial porque livros mais caros, de edições limitadas, são impressos em papéis com baixa ou nenhuma acidez.
“Acrescente isso à lista de tarefas da sua equipe, Lon. Ache o livro. Estou inclinado a acreditar que é um livro de não ficção publicado durante os anos já citados. Provavelmente sobre crimes reais. E com diferentes assuntos em cada capítulo, já que ele destacou apenas o que precisava.
Mande seu pessoal conversar com editores, livreiros, colecionadores de livros de investigação criminal... e com os próprios autores. Quantos podem haver?
— Sim, sim, durante todo o tempo livre que eles tiverem, quando não estiverem procurando pelas trilhões de citações nas quais as palavras “o segundo” aparecem.
— Ah, aliás, faça disso uma prioridade. Se nosso suspeito passou por poucas e boas para achar um exemplar desse livro, cortar as páginas e levá-las no bolso, quero realmente saber o conteúdo.
O corpulento detetive observava as fotografias da tatuagem mais uma vez. Disse a Cooper: — Imprima uma cópia disso, sim, Mel? Vou começar a visitar aquelas lojas de tatuagem, é assim que se chamam? Provavelmente agora são “estúdios”. E consiga para mim uma lista dos maiores.
Rhyme observou Cooper imprimir a imagem e então acessar o site da agência de licenciamento empresarial de Nova York. Ele baixou uma lista que parecia conter trinta estabelecimentos de tatuagem. Cooper entregou a lista ao detetive.
— Tudo isso? — queixou-se Sellitto. — Maravilha. Quanto mais eu puder caminhar pela rua nesses belos dias finais do outono, melhor.
Ele jogou a lista e a foto da tatuagem dentro da maleta. Então vestiu seu casaco Burberry e tirou as luvas amarrotadas do bolso. Sem se despedir, saiu da sala indignado. Rhyme outra vez ouviu brevemente o vento soprar quando a porta se abriu e se fechou numa batida.
— Como estamos com os mármores, novato?
O jovem policial se virou para um computador próximo a ele. Leu o que estava exibido no monitor.
— Ainda procurando licenças para detonações. Eles andam explodindo um monte de coisa pela cidade atualmente.
— Continue nisso.
— Pode deixar. Vou ter algumas respostas em breve. — Voltou seu olhar para Rhyme. — Com sorte.
— Com sorte? — Rhyme franziu a testa.
— Sim, com sorte não vou mais receber nenhuma maldita aula de gramática, Lincoln.
Elizabeth Street, 237
Vítima: Chloe Moore, 26 anos – Provavelmente sem ligação com o Suspeito – Nenhum abuso sexual, mas toque epitelial
Suspeito 5/11
– Homem branco – Porte magro/médio Gorro comprido
– Casaco escuro à altura das coxas – Mochila escura – Usava sapatilhas descartáveis – Nenhuma impressão digital encontrada Morte: envenenamento por cicutoxina, inserida no corpo via tatuagem
– Proveniente da cicuta – Fonte desconhecida – Concentração oito vezes maior que o normal
Sedada com propofol – Obtido como? Acesso a suprimentos médicos?
Tatuada com “o segundo” em caligrafia gótica, cercado de recortes em formato de concha – Parte de uma mensagem? – Força-tarefa na central de polícia averiguando
Pistola de tatuagem portátil como arma do crime – Modelo desconhecido
Fibra de algodão – Esbranquiçada – Provavelmente da camisa do Suspeito, rasgada durante a briga
Página de livro, crimes reais?
– Provavelmente arrancada do bolso do suspeito durante a luta – Provavelmente livro comercial publicado entre 1996 e 2000
rie
que sua maior habilidade era a de antecipar -
Na página seguinte: o corpo foi encontrado
Possível uso de rolos adesivos para remover vestígios das roupas antes do ataque
Algemas
– Genérica, não rastreável
Lanterna
– Genérica, não rastreável
Silver tape
– Genérica, não rastreável
Vestígios
Óxido nítrico, ozônio, manganês ferroso, níquel, liga de prata-berílio, hidrocarboneto clorado, acetileno – Possíveis suprimentos de soldagem oxicombustíveis
Tetrodotoxina
– Veneno de baiacu – Droga zumbi – Quantidades pequenas – Não usada na vítima nesse caso
Estercobilina, ureia 9,3g/L, cloro 1,87g/L, sódio 1,17g/L, potássio 0,750g/L, creatinina 0,670g/L – Material fecal – Talvez sugerisse interesse/obsessão pelo subsolo – Futuros locais de crimes no subsolo?
Cloreto de benzalcônio
– Quaternário de amônio, desinfetante industrial
Látex adesivo
– Usado em curativos e na construção civil, outros usos também
Mármore Inwood
– Pó e pequenos grãos
Explosivo Tovex
Provavelmente de um local de implosões/detonações
— Ei, cara. Pode sentar. Daqui a um minuto atendo você. Quer dar uma olhada no catálogo? Tentar achar algo divertido, algo que impressione as mulheres? Nunca se é velho demais para uma tatuagem.
Os olhos do homem se direcionaram para o dedo anelar de Lon Sellitto, sem anéis, e se voltaram para a jovem loira com quem conversava.
O tatuador — e dono da loja (sim, loja, não estúdio) — tinha pouco mais de 30 anos e era magro feito um graveto. Usava uma calça jeans com um bom corte e bem passada e uma regata branca imaculada. Seu cabelo loiro escuro estava preso num longo rabo de cavalo. Sua barba excepcional, um desenho elaborado que descia de seus lábios superiores em linhas finas de pelos sedosos e escuros, que contornavam sua boca e se reencontravam no queixo em uma espiral. Os pelos das bochechas estavam raspados, mas suas costeletas, finas como uma lâmina, ouriçavam-se perto das orelhas.
Uma haste de metal atravessava a orelha, da cartilagem superior até o lóbulo. Outra dessas, menor, perfurava cada sobrancelha verticalmente.
Comparadas à barba e aos piercings, as tatuagens coloridas do Superman em um antebraço e do Batman no outro pareciam comportadas.
Sellitto se aproximou.
— Um minuto, cara, já falei. — Ele estudou o policial por um instante. — Sabe, para um coroa, um cara mais volumoso, com todo o respeito, você é um bom candidato. Sua pele não vai afrouxar. — Sua voz diminuiu. — Ah.
Olha só.
Sellitto havia se cansado do falatório. Tinha brandido o distintivo dourado na direção do hipster de uma maneira tanto agressiva quanto letárgica.
— Ok. Polícia. Você é polícia?
O tatuador estava sentado num banquinho ao lado de uma cadeira reclinável de couro preto que parecia confortável, mas bem surrada, ocupada por uma garota com quem ele estava conversando no momento em que Sellitto chegara. Ela usava jeans excessivamente apertados e um top cinza por cima de algo que aparentava ser três sutiãs ou camisolas de alças, ou seja lá como chamam aquilo. Rosa, verde e azul. Seu cabelo excepcionalmente loiro era longo na esquerda e bem curto na direita. Rosto bonito, caso fosse possível ignorar o cabelo bagunçado e os olhos inquietos.
— Quer falar comigo? — perguntou o tatuador.
— Quero falar com TT Gordon.
— Eu sou o TT.
— Então quero falar com você.
Ali perto, outro tatuador, um gordinho na casa dos 30 anos, de calça cargo e camiseta, trabalhava em um cliente — um fisiculturista gigantesco — que estava deitado com o rosto para baixo numa maca de couro, como aquelas de massagem. O homem recebia a tatuagem bem detalhada de uma motocicleta em suas costas.
Tanto o funcionário quanto o cliente olharam para Sellitto, que os encarou.
Então eles voltaram a tatuar e a ser tatuado.
O detetive lançou um olhar na direção de Gordon e da garota com o cabelo assimétrico. Ela estava perturbada, realmente incomodada. Gordon, no entanto, não parecia desconcertado com a presença do policial. O dono do Estúdio de Tatuagem Sonic Hum-Drum estava com todas as licenças em dia e com seus impostos pagos, o detetive sabia disso. Havia verificado.
— Me deixa só terminar aqui.
— É importante.
— Isso aqui também é — retrucou Gordon —, cara.
— Não, cara — disse Sellitto. — O que você vai fazer é sentar aqui e responder minhas perguntas. Porque o meu importante é mais importante que o seu importante. E, senhorita Gaga, você vai ter que sair.
Ela assentiu. Sem fôlego.
— Mas... — começou a falar Gordon.
— Já ouviu falar da seção 260.21 do Código Penal do Estado de Nova York? — perguntou Sellitto secamente.
— Eu. Hum. Claro. — Gordon assentiu tranquilamente.
— É crime tatuar menores de 18 anos, definido como conduta ilícita em segundo grau contra crianças e adolescentes. — Virou-se para a cliente. — Quantos anos você tem? — vociferou Sellitto.
Ela chorava.
— Dezessete. Me desculpe. Eu só, eu não, eu realmente, quero dizer...
— Vai terminar a frase essa semana ainda?
— Por favor, eu só, quero dizer...
— Deixe-me colocar de outra forma: suma daqui.
Ela saiu às pressas, largando para trás sua jaqueta de vinil. Enquanto Sellitto e Gordon assistiam, ela parou, raciocinou e então se esgueirou de volta, pegou o casaco e sumiu de novo, desta vez permanentemente.
Virando-se para o dono da loja, Sellitto estava se divertindo, apesar de notar que Gordon não demonstrava nenhum sentimento de culpa. Nem medo. O detetive pressionou.
— Isso é um delito de classe B. Punível com três meses na cadeia.
— Punível com até três meses de detenção, mas ela ter me apresentado uma carteira de identidade aparentemente verdadeira é uma defesa válida — argumentou Gordon. — A dela? Era boa, muito boa mesmo. De primeira linha. Achei que era de verdade. O júri acharia que era de verdade.
Sellitto tentou não piscar, mas não obteve muito sucesso.
— Não que isso importasse — continuou Gordon. — Eu não ia tatuar a garota. Eu estava no meu momento Sigmund.
Sellitto inclinou a cabeça.
— Freud. Estilo conselheiro de plantão. Ela queria muito uma tatuagem, mas eu estava aconselhando a não fazer isso. Ela é uma garotinha do Queens ou do Brooklyn, o namorado a trocou por uma vagabunda que tinha quinto crânios tatuados.
— O quê?
— Cinco. Quinto. Crânios, você sabe. Ela queria sete. Septo.
— E como estava indo a terapia, doutor?
O homem fez uma careta.
— Estava indo muito bem, eu a estava dissuadindo. Aí você chegou. Discouragus interruptus. Mas acho que ela está assustada o suficiente por enquanto.
— Estava dissuadindo a garota?
— Isso mesmo. Eu estava inventando qualquer merda sobre como a tatuagem estragaria a pele dela. Em alguns meses ela ia parecer ter uns dez anos a mais. O que é engraçado, porque mulheres nas ilhas do Pacífico Sul costumavam fazer tatuagens porque as deixavam mais jovens. Lábios e pálpebras. Ui, eu sei. Imaginei que ela não conhecesse hábitos samoanos.
— Mas você achou que ela fosse maior de idade. Então por que tentar dissuadi-la?
— Cara. Antes de tudo, eu tinha minhas dúvidas quanto à carteira de identidade dela. Mas esse não era o ponto. Ela veio aqui pelos motivos errados. Você se tatua para comunicar uma ideia positiva sobre si mesmo.
Não por vingança, não para esfregar na cara de alguém. Não porque você quer ser aquela garota estúpida com a tatuagem de dragão. Tatuagem é ser quem você é, não é tentar se transformar em outra pessoa. Entendeu?
Na verdade, não, disse a expressão no rosto de Sellitto.
Mas Gordon continuou: — Viu o cabelo dela, a maquiagem gótica? Bem, apesar de tudo isso, ela não era apta a ser tatuada. Tinha uma bolsa da Hello Kitty, meu Deus do céu. E uma cruz de são Timóteo no pescoço. No seu tempo você diria que ela era uma “menina sem sal”, você sabe, indo à lanchonete.
Meu tempo? Lanchonete? De qualquer forma, Sellitto estava começando a acreditar na história.
— Além do mais, eu não tinha uma bolinha de tênis grande o suficiente para ela apertar — disse o jovem, sorrindo de modo afetado. Provocando Sellitto um pouco.
— Uma...?
Ele explicou: uma bola de tênis que se dá aos clientes que não parece que aguentariam a dor do processo de tatuagem.
— Aquela garotinha não aguentaria. Enfiam agulhas em você, vai rolar dor. Essas são as regras: dor e sangue. O compromisso, cara. Entendeu?
Então, o que posso fazer por você, agora que sei que não tem nenhuma, você sabe, crise de meia-idade envolvida?
O detetive resmungou.
TT Gordon riu.
— Tem um caso que estamos investigando. Preciso de uma ajuda.
— Beleza. Me dá só um minuto.
Gordon foi até uma terceira estação de trabalho. Um colega tatuador com os braços inteiros desenhados, como mangas azuis e vermelhas, tatuava um sujeito com quase 30 anos. Estava fazendo um falcão voando no bíceps. Sellitto se lembrou dos falcões no parapeito da janela de Rhyme.
O cliente parecia ter acabado de chegar do metrô vindo de Wall Street e que depois voltaria para seu escritório de advocacia para trabalhar a noite inteira.
Gordon supervisionou o desenho. Deu algumas sugestões.
Sellitto examinou a loja. Parecia pertencer a outra época: especificamente os anos 1960. As paredes eram cobertas com centenas de amostras de tatuagens: rostos, símbolos religiosos, personagens de desenho animado, slogans, mapas, paisagens, caveiras... muitas delas psicodélicas. Também havia dezenas de fotos de piercings à venda. Alguns quadros estavam cobertos com cortinas. Sellitto conseguia imaginar em que lugares do corpo aqueles rebites e pinos eram presos, apesar de ter se indagado sobre o porquê do pudor.
O espaço onde faziam as tatuagens lembravam cabeleireiros, com cadeiras reclináveis para os clientes e banquinhos para os artistas.
Equipamentos, garrafas e panos repousavam sobre o balcão. Na parede, havia um espelho no qual alguns adesivos e os certificados da vigilância sanitária estavam colados. Apesar de aquele lugar existir com a finalidade de espirrar fluidos corporais, era um espaço impecável. O cheiro de desinfetante era forte e havia placas de alerta em todos os cantos sobre limpeza de equipamentos, esterilização.
130 graus Celsius é seu amigo.
Gordon terminou de dar sugestões e indicou com um gesto para Sellitto a sala dos fundos. Atravessaram a cortina de miçangas até o escritório da loja. Igualmente bem-organizado e limpo.
Gordon pegou uma garrafa d’água de um frigobar e ofereceu a Sellitto, que não colocaria a boca em nada proveniente daquele lugar. Balançou negativamente a cabeça.
O dono do estúdio desatarraxou a tampa e bebeu. Indicou a porta, onde as miçangas ainda balançavam.
— Chegamos a esse ponto. — Como se Sellitto fosse seu novo melhor amigo.
— Como assim?
— O cara de terno — disse, tranquilamente. O homem da tatuagem de falcão. — Viu onde ele vai tatuar aquilo?
— No bíceps.
— Exato. Bem no alto. Fácil de esconder. O cara tem dois ou três filhos, ou vai ter nos próximos anos. Estudou em Columbia ou na Universidade de Nova York. Advogado ou contador. — Gordon balançou a cabeça. O rabo de cavalo oscilou. — Tatuagem costumava ser algo clandestino. Quem fazia eram caras e garotas barra-pesada. Hoje, fazer uma arte na pele é como colocar uma bijuteria ou uma gravata. Tem uma piada recorrente por aí que diz que alguém ainda vai abrir uma franquia de estúdios de tatuagem em shopping centers. O nome vai ser Tattoobucks.
— É por isso que você também usa esses bastões? — Sellitto indicou com a cabeça as hastes de metal nas orelhas de Gordon.
— É preciso ir longe para provar um ponto. Isso soou pretensioso. Foi mal. Então. O que posso fazer por você, policial?
— Estou visitando os maiores estúdios da cidade. Nenhum deles conseguiu me ajudar até agora, mas todos me disseram que você era a pessoa com quem eu deveria falar. Me falaram que esse é o estúdio mais antigo da cidade. E que você conhece todo mundo do meio.
— Difícil dizer se somos os mais antigos. Tatuagem, e me refiro à tatuagem moderna nos Estados Unidos, não à tribal, meio que começou em Nova York. No Bowery, no fim do século XVIII. Mas foi banida em 1961 depois de uma epidemia de hepatite. Só foi legalizada de novo em 1997. Achei registros que mostram que essa loja surgiu nos anos 1920; cara, aquele tempo devia ser bom. Você fazia uma tatuagem e virava o Sr. Alternativo. Ou Srta., apesar de que mulheres raramente fizessem. Não que não houvesse casos. A mãe do Winston Churchill tinha uma cobra comendo a própria cauda.
Ele notou que Sellitto não estava muito interessado na aula de história.
Um encolher de ombros. O meu entusiasmo não é o seu entusiasmo. Entendi.
— O que vou contar agora é confidencial.
— Sem problema, cara. As pessoas me falam todo tipo de merda quando estão com a maquininha nelas. Ficam apreensivas, então começam a tagarelar. Eu esqueço tudo o que ouço. Amnésia, você sabe. — Uma franzida de testa. — Você está aqui para falar de alguém que possa ser um dos meus clientes?
— Não tenho nenhum motivo para achar isso, mas pode ser. — Sellitto acrescentou: — Se eu mostrar uma tatuagem a você, acha que poderia me dizer alguma coisa sobre o cara que a fez?
— Talvez. Todo mundo tem seu próprio estilo. Mesmo que dois artistas tatuem sobre o mesmo estêncil, o resultado será diferente. É assim que se aprende a tatuar, a máquina que se usa, as agulhas que se agrupa. Mil coisas. De qualquer modo, não posso garantir, mas já trabalhei com artistas do país todo e estive em convenções em quase todos os estados. Acho que consigo dar uma ajuda.
— Ok, veja isso.
Sellitto vasculhou sua maleta e tirou a foto que Mel Cooper havia imprimido.
Gordon se inclinou e, franzindo a testa, estudou a foto com cuidado.
— O cara que desenhou isso sabe o que está fazendo, um profissional mesmo. Mas não entendi a inflamação na pele. Não tem tinta. A pele está toda inchada e áspera. Bem infectada. E não há cores. Ele usou tinta invisível?
Sellitto achou que Gordon estivesse brincando e disse isso a ele. O tatuador explicou que algumas pessoas não queriam se comprometer muito, então eram tatuadas com uma solução especial que parecia invisível, mas que aparecia sob luz negra.
— A turma da bolinha de tênis.
— Isso aí, cara. — Um punho cerrado foi oferecido a Sellitto. O detetive negou a tentativa de trocar um soquinho. O artista então franziu o cenho. — Estou sentindo que tem mais coisa por trás disso, não?
Sellitto assentiu. Eles mantiveram o envenenamento como causa da morte longe da imprensa; esse era o tipo de modus operandi que poderia gerar imitadores. E, se houvesse informantes, ou mesmo se o assassino decidisse ligar para a prefeitura e contar vantagem, eles saberiam que quem ligou tinha acesso aos detalhes reais do crime.
Além disso, como regra geral, Sellitto preferia explicar o mínimo possível enquanto buscava testemunhas ou pedia conselhos. Entretanto, nesse caso ele não tinha opção. Precisava da ajuda de Gordon. E Sellitto resolveu que ia com a cara dele.
Cara...
— O suspeito que estamos procurando usou veneno em vez de tinta.
Os olhos do tatuador se arregalaram, os pinos de metal se ergueram drasticamente.
— Meu Deus. Não! Meu Deus.
— Pois é. Já ouviu falar de alguém que fez isso?
— Nem ferrando. — Gordon alisou os complexos pelos faciais com os dedos. — Cara, isso é muito errado. Meu... Veja, nós... o que a gente faz é meio que um híbrido entre arte e cirurgia plástica; as pessoas depositam confiança na gente. Temos uma relação especial com elas. — A voz de Gordon ficou tensa. — Usar uma tatuagem para matar alguém. Cara.
O telefone do estúdio tocou, e Gordon ignorou. Mas alguns segundos depois o tatuador brutamontes — o que desenhava a motocicleta — enfiou a cabeça pela cortina.
— Ei, TT. — Um aceno de cabeça para Sellitto.
— O quê?
— Ligaram para cá. Podemos tatuar uma nota de cem dólares no pescoço de um cara?
O sotaque era sulista. Sellitto não conseguiu identificar de onde.
— Cem? Sim, por que não?
— Quero dizer, não é ilegal reproduzir dinheiro?
Gordon revirou os olhos.
— Ele não vai se colocar dentro de uma roleta de cassino em Atlantic City.
— Só estou perguntando.
— Tudo bem.
O tatuador falou ao telefone: — Sim, senhor, faremos.
Então desligou. Começou a se virar para sair, mas Gordon chamou.
— Espera um pouco. — Gordon acrescentou, olhando para Sellitto: — O Eddie é rodado. Talvez você queira conversar com ele também.
O detetive acenou com a cabeça, e Gordon os apresentou.
— Eddie Beaufort, detetive Sellitto.
— Muito prazer. — Uma cadência sulista do meio-atlântico, concluiu Sellitto. O sujeito tinha um rosto afável que não combinava com as tatuagens que cobriam seus braços, a maioria de animais selvagens, pelo que parecia. — Detetive de polícia. Hum.
— Conte ao Eddie o que você estava me falando.
Sellitto explicou a situação a Beaufort, cujo semblante de assombro e consternação se equiparava ao de Gordon. O detetive perguntou: — Já ouviu falar de alguém usando tinta ou pistola de tatuagem como arma? Envenenada ou não. Algum de vocês.
— Não — murmurou Beaufort. — Nunca.
Gordon disse para o colega: — Bela tatuagem.
— Sim. O cara sabe das coisas. Aquilo era veneno, hein?
— Isso mesmo.
— Como ele pegou a garota, quero dizer, como ela ficou parada por tanto tempo? — perguntou Gordon.
— Ele a apagou com drogas. Mas não demorou muito tempo. Achamos que ele fez isso tudo em quinze minutos.
— Quinze? — perguntou Gordon, atordoado.
— Isso é incomum?
— Incomum? É claro, cara — respondeu Beaufort. — Não conheço ninguém que faria um trabalho desses em quinze minutos. Levaria uma hora, pelo menos.
— A-hã — concordou Gordon.
Beaufort indicou a entrada da loja.
— Tem um cara seminu me esperando. Melhor eu voltar.
Sellitto agradeceu com um aceno de cabeça. Então perguntou a Gordon: — Bem, olhando para isso, tem alguma coisa que você possa me dizer sobre o cara?
Gordon se inclinou para a frente e examinou a foto da tatuagem no corpo de Chloe Moore. Franziu a testa.
— Não está bem claro. Você não teria algo de mais perto? Ou numa definição melhor?
— Podemos conseguir.
— Posso ir até a delegacia. He-he. Sempre quis fazer isso.
— Estamos trabalhando no escritório de um consultor. A gente... Espera aí. — O telefone de Sellitto apitou. Ele olhou para a tela e leu a mensagem.
Interessante. Respondeu imediatamente.
Virou-se para Gordon.
— Preciso ir a outro lugar, mas aqui está. — Sellitto anotou o nome e o endereço de Rhyme. — Essa é a residência do consultor. Tenho que passar na central e então encontro você lá.
— Ok. Tipo quando?
— Tipo o mais rápido possível.
— Claro. Ei, você quer uma Glock ou algo assim?
— O quê? — A feição de Sellitto se contorceu.
— Eu tatuo você de graça. Uma arma, uma caveira. Ei, que tal um distintivo?
— Nada de caveiras nem distintivos. — Bateu com o dedo no cartão contendo o endereço no Central Park. — Tudo de que preciso é que você apareça aqui.
— O mais rápido possível.
— Você entendeu mesmo, cara.
— Como estamos indo, novato?
Sentado num banquinho no salão de Rhyme, Ron Pulaski estava debruçado sobre o teclado do computador. Reduzia o número de locais na cidade de onde o mármore Inwood poderia ter vindo.
— Está indo devagar. Não é só uma implosão estrutural. Tem um monte de demolição acontecendo na cidade. E é novembro. Nesse tempo. Quem teria imaginado? Eu...
Um celular tocou. O jovem policial o pescou do bolso. Era o pré-pago.
A missão secreta do Relojoeiro estava esquentando. Rhyme ficou entusiasmado por terem retornado a ligação tão rápido.
E qual seria o assunto da conversa?
Ouviu algumas amenidades. Então: — Sim, sobre os restos mortais. Richard Logan. Exato. — Pulaski foi até o canto da sala. Rhyme não conseguia mais ouvir.
Mas notou a expressão de enterro em Pulaski — um trocadilho que Rhyme decidiu não compartilhar, dado que essa missão parecia estar sendo exaustiva para ele.
Depois de dois ou três minutos, Pulaski desligou e fez algumas anotações.
— E? — perguntou Rhyme.
— Eles transferiram o corpo de Logan para a Funerária Berkowitz.
— Onde fica? — Aquilo soava familiar.
— Não muito longe daqui. No final da Broadway.
— Um velório?
— Não, só alguém indo pegar suas cinzas na quinta.
Sem desviar o olhar do grande monitor, Rhyme murmurou: — Nada do FBI sobre a origem dos venenos e porcaria nenhuma sobre “o segundo”. Apesar de não devermos ficar muito otimistas em relação a isso. Quem?
Nem Pulaski nem Cooper responderam. Sachs também estava calada.
— Então? — insistiu Rhyme.
— “Então” o quê? — perguntou Cooper.
— Estou perguntando a Pulaski. Quem vai estar lá? Para pegar as cinzas de Logan. Você perguntou para o agente funerário quem é essa pessoa?
— Não.
— Bem, por que não?
— Porque isso iria parecer suspeito, você não acha, Lincoln? — retrucou o policial de patrulha. — E se fosse um cúmplice secreto do Relojoeiro vindo dar o último adeus, e o agente funerário casualmente mencionasse que alguém esteve perguntando sobre quem estaria lá? Não é exatamente uma pergunta comum de se fazer...
— Ok, certo. Já entendi o seu argumento.
— Um bom argumento — disse Cooper.
Um argumento razoável.
Então Rhyme meditou novamente sobre a mensagem tatuada no corpo de Chloe Moore. Ele duvidava que “o segundo” fosse parte de uma citação localizável. Talvez fosse algo que o suspeito tivesse escolhido espontaneamente e por isso não pudesse ser rastreado. E, talvez, não houvesse significado algum por trás disso.
Uma distração, uma indução ao erro.
Cortina de fumaça...
Mas, se significar alguma coisa, o que seria? Por que você está lançando seus pensamentos como um anzol?
— Não sei — disse Cooper.
Aparentemente Rhyme havia enunciado em voz alta a pergunta ao enigmático criminoso.
— Maldita mensagem — queixou-se.
Todos no cômodo olharam para ela mais uma vez.
— ... o segundo, o segundo...
— Um anagrama? — sugeriu o técnico.
Rhyme passou os olhos nas letras. Nada significante surgiu ao rearranjá-las.
— De qualquer forma, sinto que a mensagem já é misteriosa o suficiente. Ele não precisa jogar Scrabble com a gente. Portanto, novato, você vai disfarçado até a funerária. Tudo bem para você?
— Tudo bem.
Pulaski respondeu muito rápido, ponderou Rhyme. Ele sabia que essa relutância acerca da missão não tinha nada a ver com o risco físico. Mesmo se o manto póstumo do Relojoeiro tivesse sido herdado por um cúmplice, e que fosse essa pessoa quem estivesse indo coletar as cinzas, ele não sacaria a arma numa funerária e sairia atirando contra um policial à paisana. Não, era o medo de ser ineficiente que invadia o jovem policial, tudo graças a uma fratura na cabeça que ele sofrera havia alguns anos. Pulaski era ótimo analisando cenas de crimes. Era bom, para alguém que não era um cientista, no laboratório. Mas, quando precisava lidar com pessoas e tomar decisões rápidas, incertezas e hesitações brotavam.
— Depois conversaremos sobre o que você vai vestir, como deve agir e que tipo de pessoa deve ser.
Pulaski anuiu com a cabeça, pôs de volta no bolso o telefone, que ele vinha manuseando nervosamente, e retornou à tarefa do mármore.
Rhyme guiou sua cadeira de rodas da Merits para perto do balcão de análises onde estavam as evidências do assassinato de Chloe Moore no SoHo. Ergueu o olhar até o monitor logo acima, que exibia as fotos que Sachs havia tirado na cena, dispostas numa alta definição cegante e gloriosa. Analisou o rosto da mulher morta, as manchas de saliva, a expressão cadavérica, o vômito, os olhos largos e inertes. A expressão facial refletia seus últimos momentos na Terra. A toxina mortal extraída da cicuta teria induzido nela convulsões violentas e dores abdominais excruciantes.
Por que veneno?, pensou Rhyme novamente.
E por que uma pistola de tatuagem como o meio de inserir a toxina em seu corpo?
— Que inferno — resmungou Sachs, afastando-se de sua bancada. Ela estava ajudando Pulaski a rastrear licenças comerciais para detonações. — O computador parou de novo. Já aconteceu duas vezes nos últimos vinte minutos. Mesma coisa com os telefones, mais cedo.
— Não só aqui — acrescentou Thom. — Apagões por toda a cidade.
Downloads lentos. Um saco. Cerca de doze bairros foram afetados.
— Ótimo. Exatamente do que a gente precisava — vociferou Rhyme.
Não dava para comandar a investigação de um crime sem os computadores; isso impedia o acesso ao departamento de trânsito, bancos de dados criptografados da polícia e de agências nacionais de segurança até o Google. Se o fluxo fosse interrompido, as investigações parariam completamente. E nunca pensamos sobre o quanto somos dependentes desses bits e bytes invisíveis até que o fluxo de dados é interrompido.
— Ok, já voltou — anunciou Sachs.
Mas as preocupações sobre a internet foram deixadas de lado quando Lon Sellitto, arrancando o casaco, irrompeu pelo salão de Rhyme. Jogou seu Burberry sobre uma cadeira, empilhou suas luvas sobre a peça de roupa e arrancou algo de dentro de sua maleta.
Rhyme olhou para ele com desaprovação.
— Depois eu enxugo o maldito chão, Linc — disse Sellitto em defesa.
— Não me importo com o chão. Por que eu me importaria com isso?
Quero saber o que você tem nas mãos.
Sellitto secava o suor. Sua calefação interna estava inalterada, aparentemente, mesmo com o pior e mais gélido novembro dos últimos vinte e cinco anos.
— Primeiro de tudo, achei um tatuador que vai nos ajudar e ele está a caminho. É melhor que esteja mesmo. TT Gordon. Você devia ver o bigode dele.
— Lon.
— E isso. — Ele ergueu um livro. — Sabe os caras da central? Eles rastrearam de onde vem o pedaço de papel.
O coração de Rhyme bateu mais forte — uma sensação que a maioria das pessoas sentiria no peito, mas para ele, é claro, registrava-se simplesmente a elevação do pulso em seu pescoço e cabeça, as únicas partes sensíveis de seu corpo.
rie
que sua maior habilidade era a de antecipar
— Como eles conseguiram, Lon? — perguntou Sachs.
— Você conhece o Marty Belson, do Departamento de Casos Especiais — continuou Sellitto.
— Ah, o sabe-tudo.
— Isso. Adora um quebra-cabeça. Faz Sudoku enquanto dorme. — Sellitto explicou a Rhyme: — Trabalha com crimes financeiros na maioria das vezes. De qualquer forma, ele descobriu que as letras de cima são parte do título, você sabe, alguns livros têm o nome do autor no alto da página e, no topo da página oposta, o título do livro.
— Sim. Continue.
— Ele estava brincando com palavras que terminam em “rie”?
— A página seguinte falava de como o corpo foi encontrado.
Especulamos que fosse um livro sobre crimes. Talvez algo com barbárie.
— Não, série. O título completo é Cidades em série. Ele estava na pequena lista com seis títulos que Marty elaborou. Ele ligou para todas as grandes editoras da cidade, não existem tantas quanto antigamente, e leu as passagens para os editores. Um deles a reconheceu. Disse que sua editora havia publicado esse livro fazia muito tempo. Cidades em série. Está esgotado atualmente, mas ele sabia até mesmo de qual capítulo era a passagem. Sétimo. Mandou uma cópia para a gente.
Excelente!
— E sobre o que é esse capítulo tão especial? — perguntou Rhyme.
Sellitto enxugou mais um pouco de suor.
— Você, Linc. É todo sobre você.
— E sobre você também, Amelia.
Sellitto abria o livro. Rhyme reparou no título completo: Cidades em série: assassinos famosos de costa a costa.
— Deixe-me adivinhar: o tema é sobre como cada cidade grande tem um serial killer.
— O Estrangulador de Boston, Charles Manson em L.A., o Assassino da Estrada I-5 em Seattle.
— Reportagem malfeita. Manson não era um serial killer.
— Não acho que o público se importe com isso.
— E colocaram a gente no livro? — perguntou Sachs.
— O capítulo sete é intitulado “O Colecionador de Ossos”.
Aquele era o nome popular, cortesia da imprensa e de uma romantização excessiva, de um sequestrador em série que provocara Rhyme e a polícia de Nova York havia alguns anos, escondendo suas vítimas em lugares onde elas morreriam caso os investigadores não descobrissem a tempo o local onde estavam sendo mantidas.
Algumas foram salvas, outras não. O caso foi significante por vários motivos: trouxe Rhyme de volta dos mortos — quase literalmente. Ele vinha planejando tirar a própria vida, de tão depressivo que estava por causa de sua tetraplegia, mas decidiu persistir mais um pouco, depois da satisfação de duelar intelectualmente com o brilhante assassino.
O caso também aproximara Rhyme e Sachs.
— E a gente não está no primeiro capítulo? — murmurou Rhyme.
Sellitto encolheu os ombros.
— Ah, meus pêsames, Linc.
— Mas aqui é Nova York.
E esse sou eu, pensou Rhyme, sem conseguir se controlar.
— Posso ver? — perguntou Sachs. Ela abriu o livro no capítulo sete e começou a ler rápido.
— É curto — observou Rhyme, ainda mais irritado. Será que a investigação sobre o Estrangulador de Boston recebeu mais páginas?
— Sabe — disse Sachs —, acho que me lembro de ter conversado com um escritor há um tempo. Ele disse que estava trabalhando num livro e me convidou para tomar um café, para descobrir detalhes que não saíram na imprensa nem em registros oficiais. — Ela sorriu. — Acho que ele falou que havia ligado para você também, Rhyme, e que você o esculachou, desligando na cara dele.
— Não me lembro disso não — resmungou ele. — Jornalismo. Qual é o sentido disso?
— Você escreveu aquilo ali — indicou Pulaski, indicando com a cabeça uma estante que continha o livro de não ficção do próprio Rhyme, relatando cenas de crimes famosas em Nova York.
— Isso foi diversão. Não devoto minha vida à regurgitação de histórias lúgubres destinadas a um público sanguessuga.
Apesar de que talvez ele devesse ter sido mais sombrio, refletiu; As cenas do crime estava sendo vendido a saldo fazia alguns anos.
— A questão relevante é: qual é o interesse do suspeito Cinco-Onze no caso do Colecionador de Ossos? — Ele olhava para o livro. — Qual é a natureza do meu capítulo? Há alguma temática? O autor tem alguma reclamação a fazer?
E qual era o tamanho daquele capítulo? Apenas dez páginas? Rhyme se sentiu ainda mais ofendido.
Sachs continuou folheando rapidamente.
— Não se preocupe. Falam bem de você. De mim também, devo confessar... É basicamente uma descrição dos casos de sequestro e das técnicas de investigação. — Ela virou mais algumas páginas. — Um monte de detalhes sobre o trabalho na cena do crime. Algumas notas de rodapé.
Tem uma enorme sobre sua condição física.
— Ah, deve ser uma leitura bem instigante.
— Outra sobre a politicagem do caso.
Sachs havia ficado na berlinda ao interditar uma linha de trem para preservar evidências — o que resultou numa interrupção até perto de Albany.
— E mais uma nota de rodapé, sobre a mãe de Pam — disse Sachs.
Uma jovem garota chamada Pam Willoughby e sua mãe haviam sido sequestradas pelo Colecionador de Ossos. Rhyme e Sachs as salvaram — para somente depois descobrirem que a mãe era tudo menos uma vítima inocente. Depois de saber disso, Sachs e Rhyme tentaram desesperadamente encontrar a criança. Há alguns anos conseguiram resgatá-la. Pam agora tinha 19 anos, estava na faculdade e trabalhava em Nova York. Havia se tornado a irmãzinha de consideração de Sachs.
Sachs leu até o fim.
— O autor fica mais preocupado com os distúrbios psicológicos do assassino: por que ele era tão interessado em ossos?
O sequestrador havia roubado ossos humanos e os entalhado, lixado e polido. Sua obsessão, ao que parecia, derivava do fato de que ele havia sofrido uma perda no passado, o assassinato de pessoas queridas, e encontrara um conforto inconsciente na durabilidade dos ossos.
Seus crimes eram uma vingança pela perda sofrida.
— Primeiro, acho que precisamos averiguar se nosso suspeito possui alguma ligação com o próprio Colecionador de Ossos — anunciou Rhyme.
— Investiguem os arquivos. Localizem os familiares do criminoso, onde vivem e o que andam fazendo.
Levou algum tempo para desenterrar os arquivos — os relatórios oficiais e as evidências estavam na sala de arquivos do Departamento de Polícia de Nova York. O caso era bem antigo. Rhyme possuía um pouco do material em seu computador, mas os arquivos de texto não eram compatíveis com o novo sistema. Parte da informação se encontrava em disquetes de três polegadas e meia, os quais Thom exumara do porão — um verbo apropriado, já que as caixas estavam cobertas de muita poeira.
— O que são essas coisas? — perguntou Pulaski, um representante da geração que mede o armazenamento de dados em gigabytes.
— Disquetes — respondeu Sellitto.
— Ouvi falar deles. Nunca tinha visto um.
— Jura? E você sabia, Ron, que antigamente havia discos grandes e arredondados de vinil que armazenavam música? Ah, e assávamos nossos filés de mastodonte em fogueiras de verdade, novato. Antes do micro-ondas.
— Rá, rá.
Os disquetes não foram úteis, mas Thom encontrou cópias físicas dos arquivos no porão. Rhyme e os outros conseguiram compor uma biografia do Colecionador de Ossos e usar a internet (agora funcionando direito) para determinar que o criminoso não possuía nenhum parente vivo, pelo menos nenhum com quem tivesse contato.
Rhyme permaneceu quieto por um instante ao ponderar: e eu sei por que ele não tem nenhum familiar.
Sachs notou seu olhar angustiado. Lançou um aceno reconfortante em sua direção, ao qual ele não retribuiu.
— E os sobreviventes?
Mais pesquisa on-line, mais ligações.
Pelo que descobriram, com exceção de Pam, nenhuma das vítimas resgatadas das garras do Colecionador de Ossos ainda estava viva ou morando na cidade.
— Ok, parece que não existe nenhuma ligação direta com o caso do Colecionador de Ossos — disse Rhyme bruscamente. — A vingança pode até ser um prato que se come frio, mas muito tempo já se passou para que alguém ainda venha em nosso encalço por isso.
— Vamos falar com Terry — sugeriu Sachs.
Terry Dobyns, o psicólogo-chefe do Departamento de Polícia de Nova York. Fora ele quem havia formulado a teoria de que a obsessão por ossos do Colecionador de Ossos estava fundada na perenidade dos itens e que isso refletia alguma perda no passado do criminoso.
Dobyns também fora o médico que havia agido como um cão de guarda após o incidente ocorrido com Rhyme há alguns anos. Ele se recusara a aceitar a reclusão de Rhyme e seu flerte com o suicídio. Dobyns ajudara o cientista forense a se ajustar ao mundo das pessoas com necessidades especiais. E nada daquela merda de “E como você se sente em relação a isso?”. Dobyns sabia como Rhyme se sentia, e conduzia a conversa em direções que aliviavam a aspereza daquilo tudo, ao mesmo tempo que não omitia a verdade, que às vezes a vida te fode.
O médico era inteligente, sem dúvida. E um psicólogo talentoso. Mas a sugestão de Sachs de pedir sua ajuda naquele caso era algo completamente diferente; ela queria traçar um perfil psicológico do Suspeito Cinco-Onze e essa era uma arte — não uma ciência, é claro — que Rhyme acreditava ser questionável, na melhor das hipóteses.
— Para que se preocupar com isso?
— Para colocar os pingos...
— Sem clichês, por favor, Sachs.
— ... nos jotas.
Sellitto escolheu um lado.
— Que mal haveria nisso, Linc?
— Tomaria nosso tempo, que poderia ser usado fazendo algo útil: analisando as evidências. Vai causar distração. Esse seria o mal, Lon.
— Você pode analisar o quanto quiser — disparou Sellitto de volta. — Amelia e eu vamos ligar para Terry. Você nem precisa ouvir. Olha, nosso suspeito passou por muitos perrengues para conseguir um livro sobre o Colecionador de Ossos. Quero saber por quê.
— Tudo bem — disse Rhyme, rendendo-se.
Sellitto deu um telefonema e, quando Dobyns atendeu, o detetive pressionou um botão em seu celular.
— Você está no viva-voz, Terry. Aqui é Lon Sellitto. Estou com Lincoln e alguns outros. Temos um caso sobre o qual queríamos consultar você.
— Há quanto tempo — disse o médico em tom suave de barítono. — Como tem passado, Lon?
— Bem, bem.
— E você, Lincoln?
— Bem — murmurou Rhyme ao voltar a olhar para o painel de evidências. Mármore Inwood. Sendo implodido. Naquilo sim ele estava muito mais interessado em vez de trabalhos inconsistentes de adivinhação psicológica.
Alquimia...
— Amelia também — disse ela. — E Ron Pulaski e Mel Cooper.
— Deduzo que o assunto seja sobre o caso da tatuagem. Ouvi pela radiopatrulha.
Apesar de a imprensa não ter sido informada sobre as nuances do caso do Suspeito Cinco-Onze, todas as instituições policiais da área foram contatadas com um pedido de comparação de modus operandi (nenhuma havia retornado com um parecer positivo).
— Exato. Houve um avanço e gostaríamos de sua opinião.
— Sou todo ouvidos.
Rhyme tinha de admitir que a entonação do homem era reconfortante.
Dava para imaginar o atlético médico grisalho com um sorriso tão agradável quanto sua voz. Quando ele ouvia, prestava atenção mesmo. O paciente se sentia o centro do universo.
Sachs explicou o furto do capítulo que falava do Colecionador de Ossos — e que o assassino carregava a página no bolso durante o crime.
Acrescentou também que não havia nenhuma ligação direta com o caso do Colecionador de Ossos, mas que ele devia ter tido muita dificuldade para obter uma cópia do livro.
Lon Sellitto completou: — E ele deixou uma mensagem.
Explicou sobre a frase “o segundo” em escrita gótica.
O médico ficou em silêncio por um momento. Então: — Bem, a primeira coisa que me veio à mente, a qual vocês também devem ter pensado, é que ele age em série. Uma mensagem parcial significa que tem mais coisa por vir. E então há esse interesse pelo Colecionador de Ossos, que era um sequestrador em série.
— Achamos que ele vai continuar caçando — disse Sellitto.
— Vocês têm alguma pista?
— Descrição: homem branco, magro — disse Sachs. — Alguns detalhes sobre os venenos que usou e sobre outro que ele provavelmente pretende usar.
— E a vítima, mulher branca?
— Sim.
— Se encaixa no modelo de serial killer. — A maioria desses criminosos caçava dentro do grupo étnico ao qual pertenciam.
— Ele subjugou a vítima usando propofol — continuou Sachs. — Então, talvez, ele tenha conhecimentos médicos.
— Como o Colecionador de Ossos — comentou Dobyns.
— Correto — respondeu Rhyme, desviando o olhar das evidências para o alto-falante do telefone. — Eu não tinha pensado nisso. — A atenção que prestava ao psiquiatra agora ultrapassava a marca de cinquenta por cento.
— Algum componente sexual?
— Não — respondeu Sellitto.
— Levou algum tempo até ela morrer — acrescentou Sachs. — É possível que ele estivesse lá, assistindo. E, possivelmente, apreciando.
— Sádico — comentou Ron Pulaski.
— Quem falou isso?
— Aqui é Ron Pulaski, patrulheiro. Trabalho com Lincoln e Amelia.
— Olá, policial. Bem, não, na verdade eu não vejo sadismo. Isso ocorre apenas sob um contexto sexual. Se ele gosta de infligir dor por prazer próprio, sua condição seria provavelmente diagnosticada como transtorno de personalidade antissocial.
— Sim, senhor. — Pulaski enrubesceu, não devido à correção, mas, ao que parecia, pelo olhar que Rhyme lhe lançou quando ele o interrompera.
— De cabeça, assim, eu diria que ele é um criminoso organizado e planejará os próximos ataques com cuidado — disse Dobyns. — Também diria que há duas possíveis razões para o interesse do suspeito no Colecionador de Ossos e em você, Lincoln. Em Amelia também, não se esqueçam. Primeiro, ele pode ter sido afetado de alguma forma pelos crimes do Colecionador de Ossos uma década atrás. Emocionalmente movido por eles, quero dizer.
— Mesmo não tendo nenhuma ligação direta com ele? — perguntou Rhyme, esquecendo que tentava ignorar as opiniões do médico.
— Sim. Vocês não sabem a idade exata dele, mas é possível que fosse adolescente na época, idade perfeita para uma notícia sobre um serial killer afetar seus pensamentos. E quanto à mensagem? Bem, o Colecionador de Ossos era, se bem me lembro, um adepto da vingança.
— Isso é verdade.
— Que tipo de vingança nosso suspeito estaria planejando, doutor? — perguntou Sellitto. — Familiares que morreram? Alguma outra perda pessoal?
— Na verdade, poderia ser qualquer coisa. Talvez ele tenha sofrido uma perda, uma tragédia pela qual deposita a culpa em alguém ou alguma coisa, uma empresa, uma organização, uma instituição. A perda deve ter ocorrido quando a história sobre o Colecionador de Ossos apareceu na imprensa e ele abraçou a ideia de uma represália, assim como o Colecionador o fez. Ele vem carregando consigo esse pensamento. Essa é uma explicação sobre o porquê desse assassinato ecoar de alguma forma com os ataques de uma década atrás. Algumas daquelas vítimas foram mantidas no subsolo também, certo?
— Correto — confirmou Rhyme.
— E o seu suspeito tem um interesse mórbido pela morfologia do corpo humano. A pele, nesse caso.
— Sim, encontrei evidências de ele ter tocado a vítima em vários pontos, não sexualmente — apontou Sachs. — Não havia motivo relacionado à tatuagem, pelo que pude perceber. Isso deu a ele alguma satisfação, eu imaginei. Minhas impressões.
Dobyns continuou: — Então, a primeira razão pela qual ele poderia estar interessado no Colecionador de Ossos: uma ligação psicológica com o serial killer. — Ele deu uma risada contida. — Uma observação que, suspeito, seja bem irrelevante do seu ponto de vista, Lincoln. — Ele sabia da descrença de Rhyme naquilo que os peritos forenses chamavam de policiamento “místico”. — Mas isso pode ser algo que indique que ele também está atrás de vingança — acrescentou Dobyns.
— Anotado, doutor — disse Rhyme. — Colocaremos isso no nosso painel de evidências.
— Acho que você vai se interessar mais pelo segundo motivo pelo qual ele estaria interessado no capítulo desse livro. Qualquer que seja o motivo (vingança, gosto por matar ou como distração enquanto ele rouba o Banco Central), ele sabe que você estará no seu encalço e quer aprender o máximo possível sobre você, as táticas, o modo como raciocina. Como exatamente você rastreia um serial killer. Assim ele não vai cometer os mesmos erros.
Ele quer saber quais são suas fraquezas. As suas e as de Amelia.
Isso fez mais sentido para Rhyme. Ele lançou um olhar para Sachs, que disse ao psicólogo: — O livro é praticamente um manual sobre como interromper o progresso de um serial killer usando ciência forense. E ficou claro quando vasculhamos a cena do crime que ele tem sido atento em eliminar os vestígios.
— Doutor, alguma ideia sobre por que ele escolheu essa vítima? — perguntou Pulaski. — Não havia, você sabe, nenhum contato anterior entre eles que pudemos encontrar. — Ele deu um resumo do que sabiam sobre Chloe Moore.
— Parece ser aleatório — acrescentou Sachs.
— Com o Colecionador de Ossos, lembrem-se, suas verdadeiras vítimas eram outras: a cidade de Nova York, a polícia, você e Lincoln. Eu diria que a escolha das vítimas pelo suspeito é mais baseada na acessibilidade e na conveniência, ter um lugar e tempo para fazer a tatuagem sem ser incomodado... Ainda por cima, acho que tem o fator do medo.
— Como assim? — perguntou Sellitto.
— Ele tem outro objetivo além de matar indivíduos, claramente não para roubá-los nem realizar um ato sexual. Isso pode servir aos seus propósitos de deixar a cidade inteira em alerta. Todo mundo em Nova York vai pensar duas vezes antes de descer até porões, garagens e lavanderias e usar a porta dos fundos de seus escritórios e apartamentos. Agora, alguns outros pontos. Primeiro, se ele realmente tiver sido influenciado pelo Colecionador de Ossos, então pode querer atingir você pessoalmente, Lincoln. E Amelia também. Na verdade, todos vocês podem estar correndo perigo. Segundo, ele é, claramente, um criminoso organizado, como eu disse. E isso significa que ele vem observando suas vítimas, ou pelo menos os locais de abate, com antecedência.
— Estamos trabalhando com essa suposição — disse Rhyme.
— Bom. E, finalmente... Se ele fosse de fato um imitador, teria se concentrado nos ossos das vítimas. Mas é obcecado por pele. É central ao objetivo dele. Poderia facilmente forçar as vítimas a beber veneno ou dar uma injeção nelas. Ou até mesmo esfaquear ou atirar nelas. Mas não é isso que ele faz. Obviamente é um artista profissional, de modo que, toda vez que tatua um de seus desenhos em um corpo, ele toma posse da pele de outra pessoa.
— Um colecionador de peles — disse Pulaski.
— Exatamente. Se você conseguir descobrir por que ele é tão fascinado por peles, essa será a chave para entender o caso. — Rhyme ouviu outra voz, indistinta, vinda do consultório do psicólogo. — Ah, vocês vão ter que me desculpar. Tenho uma sessão agora.
— Obrigado, doutor — agradeceu Sachs.
Após desligar, Rhyme pediu a Pulaski que colocasse as observações de Dobyns no painel.
Quase tudo era bobagem... mas Rhyme tinha de admitir, ainda que com certa relutância, que poderiam ser úteis.
— A gente deveria conversar com Pam — disse o cientista forense. — Ver se alguém a contatou perguntando sobre o Colecionador de Ossos.
Sachs anuiu com a cabeça.
— Não é uma má ideia.
Pam já não estava mais no sistema de lares temporários e morava sozinha no Brooklyn, perto do apartamento de Sachs. Parecia improvável o suspeito saber da existência dela. Por ainda ser uma criança na época dos sequestros do Colecionador de Ossos, seu nome jamais havia surgido na imprensa. E o Cidades em série também não a mencionava.
Sachs fez uma ligação para a jovem e deixou uma mensagem pedindo que ela fosse ao apartamento de Rhyme. Havia um assunto que precisava conversar com ela.
— Pulaski, volte à pesquisa do mármore. Quero saber de onde o pó veio.
A campainha tocou, e Thom desapareceu para atender a porta.
Ele retornou ao salão pouco depois, atrás de um homem de 30 anos vigoroso, dono de um rosto com rugas e castigado pelo tempo e um longo rabo de cavalo loiro. Ele também tinha a barba mais extravagante que Rhyme já vira. Ele estava adorando a diferença entre os dois homens parados em sua frente. Thom estava vestindo calça social preta, uma camisa amarela em tom pastel e uma gravata cor de ferrugem. O visitante usava um paletó impecável, leve demais para o clima frio, jeans preto engomado e um pulôver preto de manga comprida, estampado com uma aranha vermelha. Suas botas marrons eram tão lustrosas quanto uma mesa de mogno. O único atributo em comum entre os dois homens era a constituição esguia, apesar de Thom ser quinze centímetros mais alto.
— Você deve ser TT Gordon — disse Rhyme.
— Isso. E, ei, você é o cara da cadeira de rodas.
Rhyme estudou a barba bizarra e as hastes de metal nas orelhas e nas sobrancelhas.
Conseguia ver partes de tatuagens no dorso das mãos de Gordon; os outros desenhos desapareciam sob seu pulôver. Rhyme pensou ter visto um POW! tatuado sobre o punho direito.
Não tirou nenhuma conclusão sobre a aparência do sujeito. Fazia muito tempo ele havia largado a insensata prática de equivaler a essência de uma pessoa com a representação física dela. Sua própria condição era o ponto de partida dessa linha de raciocínio.
Sua primeira reação foi: o quanto deve ter doído colocar os piercings?
Isso era algo com que Rhyme se identificava; ainda podia sentir dor em suas orelhas e sobrancelhas. E o outro pensamento foi: se TT Gordon algum dia cometesse um crime, seria identificado pela polícia num instante.
Um aceno de cabeça para Sellitto, que retribuiu.
— Ei. Sabe o negócio da cadeira de rodas que falei? Não é tão estúpido quanto parece — comentou Gordon, sorrindo e olhando para todos na sala.
Seus olhos se voltaram para Rhyme. — É óbvio que você está numa cadeira de rodas. Eu quis dizer, ei, você é o famoso cara de cadeira de rodas. Não fiz a relação antes. Quando ele — olhou para Sellitto — foi até a minha loja, disse “consultor”. Você está nos jornais. Já te vi na TV. Por que você não vai naquele programa da Nancy Grace? Seria tão legal. Você assiste?
Isso era apenas um falatório desconexo, deduziu Rhyme, não algo do tipo eu-não-queria-estar-na-presença-de-um-aleijado. A deficiência parecia ser para Gordon só mais um aspecto sobre Rhyme, tal como o cabelo escuro, o nariz carnudo, o olhar penetrante e as unhas aparadas.
Uma observação de identidade, não política.
Gordon saudou os outros — Sachs, Cooper e Pulaski. Então observou o ambiente, cuja decoração Rhyme um dia havia descrito como vitoriana Hewlett-Packard.
— Hum. Bem. Legal.
— Agradecemos a você por ter vindo aqui nos ajudar — disse Sachs.
— Tipo, sem problema. Quero que esse cara rode. Esse cara aí, o que ele está fazendo? Isso vai sujar o nome de qualquer pessoa que trabalha com mods.
— “Mods”? O que isso significa? — perguntou Sachs.
— Modificação corporal, você sabe. Tatuar gente, colocar piercings, cortar. — Ele tocou nas pequenas barras de metal em sua orelha. — Tudo.
“Mod” cobre toda essa gama de coisas. — Gordon franziu a testa. — Seja lá o que “gama” significa. Eu não sei.
— Lon disse que você é bastante conhecido na comunidade de tatuadores daqui e que não faz a menor ideia de quem pode ser o suspeito — comentou Rhyme.
Gordon confirmou.
Sellitto acrescentou que Gordon tinha visto uma foto da tatuagem na vítima, mas que queria ver imagens em melhor resolução; a impressão não estava clara.
— Vou buscar os arquivos raw .NEF e salvá-los como .TIFFS melhorados — avisou Cooper.
Rhyme não tinha ideia do que ele estava falando. No tempo em que trabalhava nas cenas de crimes, costumava usar filmes de trinta e cinco milímetros que precisavam ser revelados com produtos químicos numa câmara escura. Naquela época, cada clique era importante. Hoje?
Fotografava-se a cena do crime sem parar e escolhia depois.
— Vou mandá-las para o computador Nvidia, o da telona ali — disse Cooper.
— Que seja, cara. Contanto que esteja bem visível.
— Você já viu O grande Lebowski? — perguntou Pulaski.
— Mano.
Gordon abriu um sorriso e ofereceu o punho fechado a Pulaski, que respondeu ao cumprimento.
Rhyme pensou: Tarantino, talvez.
As fotos apareceram no maior monitor da sala. Eram imagens de altíssima resolução da tatuagem no abdômen de Chloe Moore. TT Gordon se espantou ao ver a pele marcada, os vergões, a descoloração.
— Pior do que eu imaginava, o envenenamento e tudo isso. Ele meio que criou sua própria zona quente.
— O que é isso?
Gordon explicou que estúdios de tatuagem eram divididos em zonas, quente e fria. A zona fria era onde não havia risco de contaminação através do contato do sangue de um cliente com outro. Sem agulhas nem cadeiras nem máquinas não esterilizadas, por exemplo. A quente, é claro, era o oposto, onde a máquina de tatuagem e as agulhas estavam contaminadas pelo sangue dos clientes e outros fluidos corporais.
— A gente faz tudo que for possível para manter as duas zonas separadas. Mas esse cara fez o oposto: intencionalmente a infectou, bem, a envenenou. Cara. Que merda.
Mas então o artista entrou num modo analítico que Rhyme achou promissor. Gordon viu um computador.
— Posso?
— Claro — concedeu Cooper.
O tatuador digitou e visualizou imagens, aumentando algumas.
— TT, as palavras “o segundo” significam alguma coisa no mundo da tatuagem? — perguntou Rhyme.
— Não. Não tem significado nenhum que eu conheça e estou nesse ramo há quase vinte anos. Acho que é algo importante para o cara que a matou.
Ou talvez para a vítima.
— Provavelmente para o assassino — explicou Amelia Sachs para Gordon. — Não há evidências de que ele conhecia Chloe antes de tê-la matado.
— Ah. Ela se chamava Chloe. — disse isso em voz baixa. Cofiou a barba.
Então desceu um pouco mais as imagens na tela. — Bem, é estranho um cliente inventar uma frase ou palavra para a modificação. Às vezes tatuo um poema que eles escreveram. Vou te falar, muitos são péssimos, um verdadeiro lixo. Só que, na maioria das vezes, se alguém quer um texto, é uma passagem vinda de, tipo, seu livro preferido. A Bíblia. Ou uma citação famosa. Ou um ditado, você sabe. “Carpe diem”. O nome da mãe. Coisas do tipo. — Então ele franziu a testa. — Hum. Pode ser.
— O quê?
— Pode ser uma tattoo separada.
— E isso é...? — perguntou Rhyme.
— Alguns clientes separam suas mods. Fazem metade da palavra em um braço e metade no outro. Às vezes tatuam só uma parte e as namoradas, ou namorados, tatuam a outra.
— Por quê? — perguntou Pulaski.
— Por quê? — Gordon parecia um pouco perplexo com a pergunta. — Tatuagens conectam as pessoas. Esse é um dos principais motivos para fazer uma. Mesmo que se faça uma tatuagem sem igual, ainda se é parte do mesmo mundo das mods. Você tem algo em comum, sabe? Que te conecta, entendeu, cara?
— Você parece ter refletido muito sobre esse assunto — comentou Sachs.
Gordon riu.
— Ah, eu poderia ser um psicólogo, vou te contar.
— Freud — acrescentou Sellitto.
— Cara — respondeu Gordon com um sorriso largo. O punho novamente. Sellitto não aceitou a oferta.
— E você poderia nos dizer alguma coisa específica sobre ele? — perguntou Sachs.
— Não iremos mencionar seu nome — acrescentou Sellitto. — Ou forçá-lo a dar um depoimento. Só queremos saber quem é esse cara. Entrar na mente dele.
Gordon olhava para o equipamento, hesitante.
— Bem, ok. Primeiro, ele tem um dom, é um talento completo como artista, não apenas técnico. Muitos tatuadores são estilo ligue-os-pontos.
Grudam um estêncil que outra pessoa criou e preenchem. Mas — um olhar em direção da foto — não há evidência de estêncil ali. Ele usou uma bloodline.
— O que é isso? — quis saber Rhyme.
— Se não estiver usando estêncil, a maioria dos artistas desenha um contorno da tatuagem na pele antes. Alguns fazem isso à mão livre com uma caneta de tinta solúvel em água. Mas não há sinais disso aqui. O seu suspeito não fez isso. Ele apenas ligou a máquina de tatuagem e usou uma agulha de traço para o contorno, então, em vez de tinta, fez um traço com sangue que marca o perímetro externo do desenho. Logo, uma bloodline. Só os melhores tatuadores fazem isso.
— Um profissional? — perguntou Pulaski.
— Ah, sim, o cara tem que ser um profissional. Como eu disse a ele. — Um olhar para Sellitto. — Ou já foi, em algum momento. Com esse nível de habilidade? Ele poderia abrir sua própria loja num piscar de olhos. É provável que seja um artista de verdade também; quero dizer, com tintas, pincéis, telas e tudo mais. E não acho que ele seja daqui. Primeiro, porque eu já teria ouvido falar dele. Não é da região metropolitana também. Fazer uma coisa dessas em quinze minutos? Cara, isso é rápido como um foguete.
O nome dele ficaria conhecido. Aí, olha a tipografia.
Os olhos de Rhyme e dos demais se viraram para a tela.
— É escrita gótica, ou alguma variação. Não se encontra mais muito disso por aqui. Eu diria que ele tem raiz rural: caipira, fazendeiro, motoqueiro, “cozinheiro” de metanfetamina. Ou talvez um religioso convertido, justiceiro, incorruptível. Mas com certeza um garoto do interior.
— O tipo de fonte diz isso? — perguntou Sachs.
— Ah, sim. É assim, se alguém quer tatuar alguma coisa escrita, escolhe algum tipo de fonte floral ou sem serifa, com traços grossos. Pelo menos isso agora está na moda. Cara, por alguns anos todo mundo queria aquela merda de élfico.
— Tipo ajudantes do Papai Noel? — indagou Sellitto.
— Não, Senhor dos Anéis.
— Ok, você dizia do interior — retomou Rhyme. — Alguma região em particular?
— Na verdade, não. Existe tatuagem da cidade grande e do interior.
Tudo que sei é que essa aí tem jeitão de ser do interior. Olha, observe as bordas. As formas em concha. A técnica ali é cauterização. Ou escarificação, o nome oficial dela. Isso é importante.
Gordon olhou para cima e apontou para as conchas cercando as palavras “o segundo”.
— O que importa aqui é que geralmente as pessoas fazem escarificação para atrair a atenção para uma imagem. É importante para o sujeito deixar esse desenho mais proeminente. Teria sido mais fácil apenas tatuar a borda. Mas não, ele queria fazer uma escarificação. Eu acho que ele tem uma razão para isso. Não sei qual. Mas tem.
“E tem outra coisa. Eu estava pensando nisso. Resolvi fazer uma demonstração. — Gordon enfiou a mão em sua bolsa e tirou um saco plástico contendo várias peças de metal. Rhyme identificou o recipiente transparente como um daqueles nos quais instrumentos cirúrgicos e forenses são esterilizados numa autoclave. — Essas são as peças de uma máquina de tatuagem. Aliás, não se chamam pistolas de tatuagem. — Gordon sorriu. — Não importa o que se escute na TV.”
Ele pegou um pequeno canivete suíço do bolso e abriu o saco. Em pouco tempo montou a pistola — bem, a máquina — de tatuagem.
— Veja como ela é, montada e pronta para tatuar. — O artista se aproximou dos outros. — Essas são as bobinas que movem as agulhas para cima e para baixo. Esse é o tubo para a tinta e aqui está a agulha propriamente dita, saindo pela extremidade.
Rhyme conseguia vê-la, bem pequena.
— As agulhas devem entrar na derme, a camada da pele bem abaixo da camada mais externa.
— Que é a epiderme — disse Rhyme.
Concordando, Gordon desmontou o dispositivo e mostrou a agulha a todos. Parecia um espetinho de churrasco, sete centímetros e meio de comprimento, com um anel em uma extremidade. A outra ponta continha um agrupamento de pequenos cilindros de metal soldados ou acoplados.
Terminavam em pontas afiadas.
— Consegue ver como são agrupados num padrão em forma de estrela?
Eu mesmo fiz. A maioria dos artistas sérios faz isso. Mas precisamos comprar esses cilindros separados e combiná-los. Existem dois tipos de agulha: para fazer o traço, contornar a imagem, e para preenchimento e sombreamento. O cara precisava inserir bastante veneno no corpo dela, e rápido. Isso significa que ele teve que usar agulhas de preenchimento depois de terminar a bloodline. Mas isso não funcionaria, acho que não. Elas não iriam fundo o suficiente. Mas esse tipo de agulha sim. — Gordon colocou a mão dentro da sacola mais uma vez e retirou um pequeno pote de plástico. Pegou dois cilindros de metal, similares às suas agulhas, porém mais longos. — Essas são de uma máquina giratória antiga; as modernas, como a minha, são de bobina dupla, modelos oscilatórios. A dele era uma máquina portátil?
— Tinha que ser. Não havia onde ligá-la — respondeu Sachs.
— Estive procurando pistolas... máquinas de tatuagem portáteis — disse Pulaski. — Mas existem muitos modelos.
Gordon refletiu por um momento. Então disse: — Acho que teria que ser uma American Eagle. Bem antiga. Uma das primeiras a funcionar a bateria. É do tempo em que não havia muita ciência envolvida na tatuagem. O artista podia ajustar o empuxo da agulha.
Conseguia fazer com que entrassem bem fundo. Eu procuraria por alguém que tem uma Eagle.
— São vendidas por aqui? — perguntou Sellitto. — Em lojas de suprimentos.
— Nunca vi. O modelo não é mais fabricado. Dá para comprar on-line, eu acho. Esse seria o único modo de encontrar uma.
— Não, ele não compraria nada na internet, muito fácil de rastrear — frisou Rhyme. — Provavelmente conseguiu uma onde ele mora. Ou talvez já tenha uma há anos ou herdou de alguém.
— As agulhas já são outra história. É possível encontrar alguém que venda agulhas para uma American Eagle. Qualquer um que as tenha comprado recentemente poderia sê-lo.
— O que você disse? — indagou Rhyme.
— O que eu disse? — O homem magro franziu o cenho. — Quando?
Agora? Seja lá quem estiver comprando agulhas para uma máquina American Eagle pode ser o seu suspeito. Vocês não falam assim? No CSI eles falam.
O perito forense riu.
— Não. Eu estava reparando no uso correto do pronome.
Rhyme notou que Pulaski revirou os olhos.
— Ah, isso? O “-lo”? — Gordon encolheu os ombros. — Eu nunca fui...
bem na escola. Achou que eu ia dizer “bom”, não achou? Estudei uns dois anos na Hunter, mas me enchi daquilo tudo, você sabe. Mas, quando comecei a tatuar, fiz vários textos. Versos da Bíblia, passagens de livros, poemas. Então conheci escritos de vários autores famosos. Ortografia, gramática. Quer dizer, cara, isso tudo é bem interessante. Tipografia também. A mesma passagem escrita em uma fonte causa um impacto completamente diferente se estiver escrita em outra.
“Às vezes um casal chegava e pedia para tatuar os votos de casamento nos braços ou tornozelos. Ou poemas de amor idiotas que haviam escrito, como mencionei. Eu dizia, ok, vocês têm certeza de que querem passar a vida com um “Jimmy eu ti amo, Nossos coraçao vivem juntos” no bíceps?
Jimmy sem vírgula depois, te escrito errado, vírgula no final da frase e coração sem til e no singular. Eles respondiam “Hein?”. De qualquer jeito, eu corrigia a frase quando os tatuava. Eles vão ter filhos e teriam que ir às reuniões de pais e mestres, conhecer a professora. Além do mais, não é como se desse para passar um corretivo, né?
— E recortar e colar seria bem complicado — brincou Pulaski, fazendo os outros sorrirem.
Menos Gordon.
— Ah, tem uma versão de escarificação em que as pessoas realmente arrancam tiras de pele de seus corpos.
Rhyme ouviu um clique no trinco da porta da frente e ela se abrir — ou, mais precisamente, o vento uivar e a neve cair com um tinido.
A porta se fechou.
Depois disso, passos e uma risada leve, graciosa.
Ele sabia quem tinha vindo visitar e lançou um olhar para Sachs, que rapidamente se levantou e virou o quadro-branco com as fotos da cena do crime de Chloe Moore e fechou as imagens em alta resolução que TT
Gordon estava examinando.
Pouco depois, Pam Willoughby entrou no cômodo. A bela e esbelta jovem de 19 anos estava coberta por um sobretudo marrom com a borda do capuz de pele falsa. Seu cabelo longo e escuro estava preso sob um gorro de lã bordô, e sua roupa de frio marcada com pedaços de gelo e neve, que derretiam rapidamente. Ela cumprimentou todos com um aceno.
Estava acompanhada de seu namorado, Seth McGuinn, um homem bonito de cabelos pretos e com uns 25 anos. Pam o apresentou a Pulaski e Mel Cooper, que ainda não o conheciam.
Os olhos castanho-escuros de Seth, que combinavam com os de Pam, piscaram ao se deparar com TT Gordon, que saudou o casal cordialmente.
Pam teve uma reação similar. Rhyme vira o atlético Seth usando camiseta e shorts de corrida quando ele e Pam foram ao parque muitas semanas atrás, e notou que ele não possuía tatuagem alguma. Pam também não, pelo menos nenhuma visível. O jovem casal tentava ali, agora, sem sucesso, esconder sua surpresa diante do excêntrico convidado de Rhyme.
Pam se soltou do abraço de Seth, deu um beijo na bochecha de Rhyme e um abraço em Thom. Seth cumprimentou todos com um aperto de mão.
TT Gordon perguntou se eles precisavam de mais alguma ajuda com o caso. Sellitto percorreu o cômodo com o olhar e, quando Rhyme fez sinal negativo com a cabeça, disse: — Obrigado por ter vindo. Agradecemos.
— Vou ficar de olho em qualquer coisa estranha. Pela comunidade, sabe o que quero dizer? Até mais, caras.
Gordon juntou seus equipamentos, vestiu seu paletó deploravelmente fino e seguiu em direção à porta.
Seth e Pam trocaram um sorriso enquanto observavam Gordon sair.
— Ei, Pam — chamou Sachs. — Acho que Seth devia deixar o bigode crescer.
O jovem, que não tinha nenhum pelo facial, fez que não com a cabeça, franzindo o cenho.
— Que nada, posso ganhar dele. Eu faria umas tranças.
— Não, coloque um piercing — disse Pam. — Assim a gente pode trocar brincos.
Seth disse que precisava ir embora; tinha um deadline a ser cumprido na agência de publicidade em que estava trabalhando. Despediu-se de Pam com um beijo casto, como se Rhyme e Sachs fossem os pais verdadeiros da garota. Então acenou um adeus para os outros. Na saída, virou-se e lembrou a Sachs e Rhyme que seus pais gostariam de almoçar ou jantar com eles em breve. Rhyme geralmente não gostava desse tipo de socialização, mas, como Pam basicamente era da família, ele havia concordado em ir. E se lembrou de que teria de tolerar amenidades e conversas mundanas com um sorriso no rosto.
— Semana que vem? — perguntou Rhyme.
— Perfeito. Meu pai já vai ter voltado de Hong Kong. — Acrescentou ainda que o pai havia encontrado uma cópia do livro de Rhyme sobre cenas de crime em Nova York. — Alguma chance de rolar um autógrafo?
Cirurgias recentes aprimoraram o controle muscular de Rhyme a ponto de ele já conseguir escrever o nome — não tão bem quanto antes do acidente, mas no nível de qualquer médico ao prescrever uma receita.
— Será um prazer.
Depois de Seth partir, Pam tirou a jaqueta e o chapéu, sentou-se numa cadeira e perguntou a Sachs: — E aí, sua mensagem? O que houve?
A detetive indicou com os olhos a sala de espera, do outro lado do laboratório/sala de estar, e falou: — Que tal irmos até lá?
— Escuta — disse Sachs. — Não acho que você deva se preocupar.
Com sua charmosa voz cantada de contralto, Pam disse: — Ok, você sabe mesmo começar uma conversa. — Ela jogou para o lado o cabelo, que era parecido com o de Sachs, um pouco abaixo do ombro, sem franja.
Sachs sorriu.
— Não, sério. — Examinou a garota de perto e decidiu que havia certo brilho na menina. Talvez fosse seu emprego, “vestindo”, como Pam dizia, uma companhia de teatro. Ela amava os bastidores da Broadway. E a faculdade.
Mas, não, Sachs se questionou: o que eu estou pensando? É claro. A resposta era Seth.
Thom apareceu na porta com uma bandeja. Chocolate quente. O aroma era amargo e doce ao mesmo tempo.
— O inverno não é adorável? — comentou. — Quando a temperatura está abaixo de zero, chocolate quente não tem calorias. Lincoln poderia inventar uma fórmula química para isso.
Elas agradeceram o assistente.
— Quando é a estreia? — perguntou ele a Pam.
Pam estudava na Universidade de Nova York, mas sua carga horária naquele semestre era leve e — como era uma costureira talentosa — estava trabalhando meio período como assistente da assistente de figurinista em uma reencenação de Sweeney Todd da Broadway — a adaptação musical, de Stephen Sondheim e Hugh Wheeler, de uma antiga peça que acompanha a vida de um barbeiro homicida em Londres. Todd cortava as gargantas de seus clientes e uma cúmplice assava pedaços das vítimas em tortas. Rhyme tinha dito a Sachs e Pam que o criminoso o fazia se lembrar de um assassino que uma vez perseguiu, embora tenha frisado que Todd era puramente ficcional. Pam fingiu estar desapontada com o factoide.
Cortar gargantas, canibalismo, refletiu Sachs. Isso que é modificação corporal.
— A estreia é daqui a uma semana — avisou Pam. — E vou arrumar ingressos para todos. Até para Lincoln.
— Ele está bem ansioso para ir — disse Thom.
— Não acredito! — exclamou Sachs.
— É verdade.
— Mal posso esperar — disse, com ironia.
— Tenho um ingresso reservado na área para pessoas com necessidades especiais — declarou Pam. — E vocês sabem que existe um bar dentro do teatro.
Sachs riu.
— Ele estará lá com certeza.
Thom saiu e fechou a porta. Sachs continuou: — Então, o que aconteceu foi o seguinte: sabe o homem que sequestrou você e sua mãe? Há alguns anos.
— Ah, sim. O Colecionador de Ossos.
Sachs fez que sim.
— Parece que tem alguém tentando copiá-lo. De alguma maneira. Mas ele não é obcecado por ossos, e sim por pele.
— Meu Deus. Mas o que ele...? Quero dizer, ele arranca a pele das pessoas?
— Não, ele matou a vítima fazendo uma tatuagem nela com veneno.
Pam fechou os olhos e estremeceu.
— Que bizarro. Ah, espera. Aquele cara no noticiário. Ele matou a garota no SoHo?
— Sim. Bem, não há provas de que ele tenha algum interesse pelas vítimas que sobreviveram na época. Acreditamos que ele esteja usando as tatuagens para mandar uma mensagem, então escolhe os alvos em lugares isolados. Isso se não o pegarmos antes. Verificamos, mas não há nenhum outro sobrevivente do Colecionador de Ossos na região. Você é a única.
Então, alguém perguntou a você alguma coisa sobre ter sido sequestrada, sobre o que aconteceu?
— Não, ninguém.
— Bem, temos noventa e nove por cento de certeza de que ele não tem nenhum interesse em você. O assassino...
— O suspeito — corrigiu Pam, com um sorriso de quem entendia do assunto.
— O suspeito não vai saber nada sobre você. Seu nome não foi publicado porque você era muito jovem. E a sua mãe usou um pseudônimo naquela época, de qualquer maneira. Mas eu queria que você soubesse.
Fique alerta. E, à noite, vamos manter um oficial de guarda no seu apartamento.
— Ok.
Pam não parecia atordoada com a informação. Na verdade, a notícia de que poderia haver alguma ligação, mesmo que tênue, com o Suspeito Cinco-Onze, que a imprensa havia rebatizado de Homem do Subterrâneo, fora recebida com tamanha tranquilidade, na visão de Sachs, que ela percebeu que a garota tinha alguma outra coisa em mente.
Que logo foi trazida — não, jogada — à mesa.
Pam tomou um gole de chocolate quente, seus olhos passeavam por todos os lugares, exceto na direção de Sachs.
— Então, é o seguinte, Amelia. Tem uma coisa que eu gostaria de te contar. — Sorrindo. Sorrindo demais. Sachs ficou nervosa. E também tomou um gole. Não conseguiu sentir nada do gosto delicioso da bebida.
Pensou imediatamente: grávida?
Claro. Só podia ser isso.
Sachs quase sufocou de raiva. Mas como eles não tomaram cuidado? Por quê...?
— Não vou ter um filho. Relaxa.
Sachs relaxou. Tossiu uma risada curta. E se questionou se sua linguagem corporal era assim mesmo tão fácil de interpretar.
— Mas eu e Seth? Vamos morar juntos.
Tão rápido? Mesmo assim, Sachs manteve o sorriso no rosto. Será que era tão falso quanto o da adolescente?
— Vão morar juntos? Nossa. Que ótima notícia.
Pam riu, aparentemente da incoerência entre o adjetivo usado por Sachs e sua cara de quem não achava nada ótimo.
— Olha, Amelia, não vamos nos casar. É só que já estava na hora disso acontecer. Eu sinto. Ele sente. É o certo. E somos, tipo, totalmente compatíveis. Ele me conhece, me conhece de verdade. Tem vezes que nem preciso falar e ele já sabe no que estou pensando. E ele é tão legal, sabe?
— É que foi meio rápido, não acha, querida?
O entusiasmo de Pam, o brilho, diminuiu. Sachs fez com que ela se lembrasse da mãe, aquela que havia batido nela e a trancado em um armário por horas, que a chamava de “querida”; desde então Pam tinha aprendido a detestar essa expressão de afeto. Sachs se arrependeu de ter usado a palavra, mas fora descuidada e havia esquecido que a palavra era proibida.
Ela tentou novamente.
— Pam, ele é um cara ótimo. Eu e Lincoln concordamos.
E isso era verdade.
Mas Sachs não conseguia se conter.
— É só que, quero dizer, você não acha mesmo que seria melhor esperar um pouco? Para que a pressa? Podem só sair, namorar. Passar a noite juntos... Viajar?
Covarde, disse Sachs a si mesma, tendo dado as duas últimas sugestões, já que seu objetivo era criar certa barreira entre Pam e Seth. Ela estava negociando contra si mesma.
— Bem, interessante você dizer isso.
Interessante?, refletiu Sachs. Se ela não está grávida... Ah, não. Sua mandíbula travou, e as palavras seguintes de Pam confirmaram seu medo.
— O que vamos fazer é tirar um ano de férias. Vamos viajar.
— Ah, ok. Um ano. — Sachs só estava ganhando tempo a essa altura. Ela poderia muito bem ter dito “Nossa, e os Yankees?” ou “Ouvi dizer que vai parar de nevar daqui a uns dois dias”.
Pam a pressionou mais.
— Ele está de saco cheio de ser um redator freelancer . E ele é supertalentoso. Mas ninguém dá valor a ele aqui em Nova York. Ele não reclama, mas consigo perceber que está chateado. As agências de publicidade para as quais ele trabalha estão com problemas de orçamento.
Então não podem contratá-lo em tempo integral. Ele quer conhecer novos lugares. É ambicioso. E tudo é tão difícil por aqui.
— Bom, claro. Nova York é sempre um lugar difícil de se conseguir as coisas.
A voz de Pam endureceu ao dizer: — Ele bem que tentou. Não é como se não tivesse tentado.
— Eu não quis dizer...
— Ele vai começar a escrever artigos da viagem. E eu vou ajudar. Eu sempre quis viajar; nós já tínhamos conversado sobre isso.
Elas tinham, sim. Só que Sachs sempre havia imaginado que ela e Pam iriam explorar a Europa ou a Ásia. Irmã mais velha e irmã mais nova. Ela sonhava em visitar regiões da Alemanha, de onde vieram seus ancestrais.
— Mas a faculdade... Dados estatísticos mostram que é muito difícil voltar depois de largar.
— Por quê? E que dados são esses? Isso não faz o menor sentido.
Ok, Sachs não tinha nenhum dado estatístico. Ela estava inventando tudo aquilo.
— Queri... Pam, estou feliz por você, por vocês dois. É só que, bem, você tem que entender. Essa é uma surpresa enorme. E tudo tão rápido, como eu estava dizendo. Você não o conhece há tanto tempo assim.
— Há um ano.
Verdade. De certo modo. Eles haviam se conhecido em dezembro do ano anterior e namorado durante pouco tempo. Depois Seth foi para a Inglaterra para um treinamento da agência de publicidade que abriria um escritório em Nova York, quando ele e Pam entraram no rol de casais que mantêm um relacionamento através de mensagens de texto, Twitter e e-mail. A empresa, por fim, decidiu não se aventurar no mercado americano e Seth teve de voltar, há um mês, e passou a trabalhar como redator freelancer. Voltaram a ter um namoro normal.
— E daí que foi rápido? — Uma elevação no tom na voz de Pam novamente. Ela sempre fora temperamental, impossível assumir a criação que teve e não carregar a raiva à flor da pele. Mas refreou. — Olha aqui, Amelia. Agora é a hora de fazer isso. Enquanto temos essa idade. Mais tarde? E se casarmos e tivermos filhos?
Por favor. Nem pense nisso.
— Não dá para fazer um mochilão pela Europa assim.
— E o dinheiro? Você não vai poder trabalhar por lá.
— Isso não é problema. Ele vai vender os artigos. Seth tem economizado há algum tempo e os pais dele são super-ricos. Eles podem nos ajudar.
A mãe do rapaz era uma advogada e seu pai um banqueiro de investimentos, lembrou Sachs.
— E temos o blog. Vou continuar a escrever da estrada.
Seth havia criado um site fazia alguns anos onde as pessoas podiam postar mensagens de apoio a vários temas sociais e políticos, a maioria com inclinação de esquerda. O direito das mulheres de fazerem suas próprias escolhas, apoio às artes, controle de armas. E Pam, agora, estava mais envolvida do que ele no gerenciamento da página. Sim, parecia popular, embora Sachs estimasse que as doações que recebiam totalizavam mil dólares por ano.
— Mas... para onde? Quais países? É seguro?
— Ainda não sabemos. E isso faz parte da aventura.
Desesperada para ganhar tempo, Sachs perguntou: — O que os Olivetti dizem sobre isso?
Após Sachs ter resgatado a menina, ela foi para um orfanato (o qual Sachs havia monitorado como se estivesse fazendo averiguação de controle de qualidade do guarda-costas do presidente). Os pais temporários foram ótimos, mas aos 18, ano passado, Pam quis seguir sozinha e — com a ajuda de Rhyme e Sachs — havia se matriculado na faculdade e conseguido um emprego de meio período. Pam, no entanto, havia mantido contato com os pais adotivos.
— Por eles, tudo bem.
Mas é claro, os Olivetti eram pais profissionais; eles não tiveram nenhum contato com Pam antes de ela ter sido enviada a eles. Não arrombaram uma porta para salvá-la do Colecionador de Ossos e de um cão violento pronto para mordê-la e sacudi-la até a morte. Eles não trocaram tiros com o padrasto de Pam, que tentava sufocá-la.
E, deixando os traumas de lado, Sachs passou mais tempo que os ocupados pais adotivos levando Pam para atividades extracurriculares, consultas médicas e sessões de terapia. E foi a detetive quem usara uma das últimas ligações existentes de sua antiga carreira de modelo para conseguir para Pam o emprego no departamento de figurino na Broadway.
E Sachs não podia deixar de notar, também, que a garota havia contado primeiro aos Olivetti sobre os planos de viagem.
Ah, qual é, eu mereço ser consultada, pensou Sachs.
O que não era o que Pam achava, em contrapartida. Ela disse bruscamente:
— De qualquer maneira, já nos decidimos. — Pam ficou arisca de repente, embora Sachs pudesse perceber que as emoções eram falsas.
Estava claro. — Vai ser um ano. Dois, no máximo.
Agora são dois?
— Pam — começou Sachs. — Eu não sei o que dizer.
Sim, você sabe. Então diga.
Como policial, Sachs nunca evitava um conflito. E também não podia, como irmã mais velha. Nem como madrasta. Ou qualquer que fosse seu papel na vida da menina.
— Hora de ser durona, Pam.
A garota conhecia a expressão usada pelo pai de Sachs. Ela observava Sachs com os olhos entreabertos, tão cautelosos quanto impiedosos.
— Um ano na estrada com uma pessoa que você não conhece de verdade? — questionou Sachs com calma, tentando manter alguma ternura em seu tom de voz.
Mas a jovem respondeu como se Sachs tivesse aberto a janela da sala e deixado entrar uma forte corrente de vento com neve.
— Nós nos conhecemos, sim — retrucou Pam, desafiando-a. — Esse é o ponto. Você não me ouviu?
— Eu me refiro a realmente conhecer alguém. Isso leva anos.
— Somos perfeitos um para o outro. É simples — contra-atacou Pam.
— Você já conheceu a família dele?
— Já falei com a mãe dele. Ela é maravilhosa.
— Falou?
— É! — interrompeu a garota. — Falei. E o pai dele sabe tudo sobre mim.
— Mas ainda não os conheceu?
Um vento gelado.
— Isso é da minha conta e do Seth. E não dos pais dele. E esse interrogatório todo está me deixando irritada.
— Pam. — Sachs se aproximou. Ela tentou segurar a mão da menina. E, é claro, Pam negou. — Pam, você contou o que aconteceu com você?
— Contei. E ele não se importa.
— Tudo? Você contou tudo a ele?
Pam ficou em silêncio e olhou para baixo. Em seguida, na defensiva, disse: — Não precisa... Não, não falei tudo. Eu disse a ele que a minha mãe era louca e que ela havia feito algumas maldades. Ele sabe que ela está na cadeia e que vai ficar lá para sempre. E ele não se incomodou com isso.
Então ele devia ser um zumbi, pensou Sachs.
— E sobre onde você cresceu? Como foi criada? Você contou alguma dessas coisas a ele?
— Na verdade, não. Mas isso é passado. E já acabou.
— Não acho que você possa ignorar isso, Pam. Ele tem que saber. Sua mãe causou muito estrago...
— Ah, então eu sou louca também? Igual à minha mãe? É assim que você me vê?
Sachs se sentiu atingida pelo comentário, mas tentou manter um tom sereno.
— Ah, por favor, você é mais sã que qualquer político de Washington. — Sorriu. Não foi recíproco.
— Não tem nada de errado comigo! — Pam levantou a voz.
— Claro que não! Só estou preocupada com você.
— Não. Você está me dizendo que sou imatura demais para tomar decisões sozinha.
A própria Sachs estava começando a ficar com raiva. Ficar na defensiva não combinava com ela.
— Então tome decisões inteligentes. Se você ama Seth e tudo vai dar certo, um ano ou mais de namoro não vai atrapalhar em nada.
— Nós vamos viajar, Amelia. E aí vamos morar juntos quando voltarmos. Por favor, aceite isso.
— Não fale dessa maneira comigo — retrucou Sachs. Ela sabia que estava perdendo o controle, mas não conseguia se conter.
A jovem se levantou abruptamente, derrubando a xícara e derramando tudo em uma bandeja de prata.
— Merda.
Ela se inclinou para a frente e, com raiva, começou a limpar. Sachs se debruçou para ajudar, mas Pam empurrou a bandeja para longe e continuou limpando sozinha, depois jogou fora o guardanapo marrom, completamente encharcado. Ela se voltou para Sachs com olhos surpreendentemente selvagens.
— Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Você quer nos separar. E está procurando uma desculpa. — Um sorriso frio. — Você é sempre o centro das atenções, não é, Amelia? Você quer nos separar para que possa ter uma filha, aquela que você nunca pôde ter por que estava muito ocupada sendo uma policial.
Sachs quase engasgou ao ouvir a acusação lancinante — talvez, admitiu silenciosamente, porque havia um pouco de verdade nisso.
Pam andou impacientemente até a porta, parou e disse: — Você não é minha mãe, Amelia. Lembre-se disso. Você é a mulher que colocou a minha mãe na prisão.
E saiu.
Quase meia-noite, Billy Haven limpava a louça do jantar, lavando tudo que não fosse descartável com alvejante, para remover vestígios do DNA.
O que era tão perigoso — para ele — quanto alguns dos venenos que havia extraído e refinado.
Sentou-se novamente à mesa bamba na área da cozinha de sua oficina, fora da Canal Street, e abriu o caderno detonado e cheio de orelhas, os Mandamentos.
Entregues, de alguma maneira, pelas mãos de Deus.
Aquelas tábuas de pedra para Moisés.
O caderno, com suas doze ou mais páginas cheias de frases espremidas — com a esmerada e fluida caligrafia de Billy — descrevia, em pormenores, como a Modificação deveria acontecer, quem deveria morrer, quando fazer o quê, os riscos a evitar, os riscos a assumir, quais vantagens aproveitar, como lidar com reviravoltas inesperadas. Um cronograma exato. Se o Gênesis fosse um manual como os Mandamentos da Modificação, o primeiro livro da Bíblia começaria assim:
Dia três, 11:20: criar árvores decíduas. Ok, agora Você tem sete minutos para criar sempre-vivas...
Dia seis, 6:42: hora de um salmão e uma truta. Vamos lá, se apresse!
Dia seis, meio-dia: vamos fazer aquele negócio de Adão e Eva.
O que naturalmente trazia à mente a Garota Adorável. Ele pensou nela por alguns minutos, rosto, cabelo, pele pura e branca, depois afastou a imagem que o distraía da mesma maneira que se coloca de lado uma fotografia preciosa de alguma pessoa querida que se foi — cuidadosamente, com o medo supersticioso de danificar seu amor caso derrubasse o retrato.
Folheando as páginas, ele estudava o que viria a seguir. Pausando uma vez ou outra para refletir que a Modificação era certamente complicada. Em vários pontos do processo, havia se questionado se tudo aquilo não era intrincado demais. Mas se lembrou das páginas do capítulo que ele havia roubado da biblioteca naquele dia mais cedo, Cidades em série, relembrando toda a surpreendente — não, atordoante — informação que o livro havia revelado.
Peritos forenses compartilham em uníssono da opinião de que a maior habilidade de Lincoln Rhyme era a capacidade de antecipar o que o criminoso que ele persegue fará em seguida.
Billy acreditava que aquela era a citação; não estava certo, desde que Chloe Moore, não mais parte deste plano existencial, havia sem consideração alguma arrancado um pedaço daquela passagem do livro.
Antecipar...
Então, sim, o plano para a Modificação tinha de ser bastante preciso. As pessoas que se opunham a ele eram boas demais para que fosse descuidado ou deixasse escapar uma pista de alguma maneira.
Ele revisou os planos para o próximo ataque, no dia seguinte.
Memorizou lugares, memorizou o cronograma. Tudo parecia em ordem. Em sua mente, ensaiou o ataque; ele já havia visitado o local. E agora o visualizava, conseguia sentir seu cheiro.
Ótimo. Estava pronto.
Então olhou para o pulso direito, para o relógio. Estava cansado.
E o que estava acontecendo com a investigação do falecimento da senhorita Chloe?, ele refletia.
Os primeiros relatórios diziam que uma jovem residente do Queens, uma vendedora em uma butique estilosa do SoHo, havia sido encontrada morta em um túnel de acesso longe do porão. Bem, pensara Billy, perplexo, a loja não tinha estilo algum. Tralha chinesa superfaturada e destinada às piranhas de cabelo armado de Nova Jersey e às mães traumatizadas pela crise da meia-idade.
De início, o nome de Chloe não havia sido divulgado, aguardando notificação ao parente mais próximo.
Ao ouvir isso, Billy pensara: como um policial poderia ser tão sádico? Ao divulgar a notícia de que uma jovem do Queens havia sido assassinada e não divulgar o nome, quantos pais de meninas que moram na região começaram a fazer telefonemas desesperados?
Agora, aguardando uma atualização, tudo o que via eram comerciais.
Ninguém se importava com a pobre Chloe Moore?
Chloe Moore, Chloe, a vagabunda...
Ele andava de um lado para o outro em frente aos terrários. Folhas brancas, folhas verdes, folhas vermelhas, azuis...
Depois, algo que acontecia com frequência quando olhava para as plantas que eram suas companheiras, ele pensou em oleandros.
E na Sala do Oleandro.
Billy não gostou do pensamento que invadiu sua mente, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Ele poderia...
Ah, e agora as notícias. Finalmente.
Um escândalo na câmara municipal, um pequeno descarrilamento de trem, um boletim econômico. E, por fim, dando continuidade ao caso do falecimento de Chloe Moore. Detalhes adicionais eram relatados, um pouco de historiografia. Os fatos sugeriam que o ataque não havia sido de natureza sexual. (Claro que não, Billy se ofendeu que o tema tivesse sido trazido à tona. A mídia, que desprezível.) Uma pequena descrição. Então, alguém tinha visto Billy próximo ao bueiro.
Ele ouvia a matéria se desenrolar.
Nada ainda sobre tatuagens. Nada sobre veneno.
Isso era típico, Billy sabia. Ele tinha lido sobre procedimentos policiais de verificação de confissões. Os policiais perguntam certos detalhes específicos a pessoas que assumem ter cometido crimes e, se elas não souberem responder, os supostos criminosos são liberados e taxados de malucos (um número surpreendente de pessoas confessa crimes que não cometeram).
A matéria também não mencionava absolutamente nada sobre a frase “o segundo”.
Mas isso seria um problema para eles, é claro.
O que seria a mensagem que aquele criminoso misterioso estava enviando?
Entretanto, os Mandamentos da Modificação pediam que fosse impossível para a polícia decifrar a mensagem durante a investigação dos casos das primeiras vítimas.
Ele desligou o rádio.
Billy bocejou. Dormiu logo. Verificou seus e-mails, enviou mensagens, recebeu algumas e, depois de dois alarmes dos relógios, sabia que era hora de descansar.
Quando havia terminado no banheiro, onde limpara a pia e a escova de dentes com alvejante — eliminando vestígios de DNA mais uma vez —, voltou para a cama e se jogou nela. Ele pegou sua Bíblia, que guardava embaixo do travesseiro, e a colocou no peito.
A fé de Billy havia entrado em crise fazia mais ou menos um ano. Uma crise séria. Ele acreditava em Jesus e no poder de Cristo. Mas também acreditava que era um dever seu usar os talentos como tatuador. O problema era este: em Levítico estava a advertência: Não façam cortes no corpo por causa dos mortos nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o SENHOR.
Ele passara semanas deprimido após ter lido isso. Lutava com ideias de como reparar a situação.
Um argumento consistia em que a Bíblia era repleta de dissonâncias como esta — no mesmo capítulo, por exemplo, estava escrito: Não usem roupas feitas com dois tipos de tecidos. Com certeza, Deus tinha mais o que fazer do que enviar para o inferno pessoas que usavam roupas de tecidos mistos.
Billy havia questionado se Ele pretendia que as futuras gerações reinterpretassem a Bíblia, para poder alinhá-la à sociedade contemporânea. Mas isso parecia suspeito; como os juízes da Suprema Corte que diziam que a Constituição era uma coisa viva e deveria mudar para se adaptar à época.
É perigoso ter pensamentos como estes.
Por fim a resposta para essa contradição aparente veio. Billy concluiu: a Bíblia também diz: Não matarás. Mas o Evangelho estava recheado de assassinatos — incluindo uma boa dose de carnificina feita pelo Próprio Todo-Poderoso. Com isso, parecia certo matar em determinadas circunstâncias. Como para espalhar a glória de Deus, eliminar infiéis e ameaças, propagar os valores da verdade e da justiça. Dezenas de razões.
Então, em Levítico, estava claro, Deus só podia querer dizer que tatuar também era aceitável em determinadas circunstâncias, assim como tirar vidas.
E que circunstância seria melhor que a missão em que Billy se encontrava?
A Modificação.
Ele abriu sua Bíblia. Abriu em um versículo do Êxodo, uma página muito popular.
Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.
A manhã havia sido muito agitada, com todos tentando relacionar as evidências trazidas por Sachs com alguma maneira de localizar a moradia do suspeito ou sua área de atuação.
Rhyme deslocava sua cadeira de rodas de um lado para o outro em frente ao quadro, sentindo um baque no pescoço e na mandíbula quando sua Merits passava por cima de um dos cabos de energia que atravessava o chão.
Elizabeth Street, 237
Vítima: Chloe Moore, 26
– Provavelmente sem ligação com o suspeito – Nenhum abuso sexual, mas toque epitelial
Suspeito 5/11
– Homem branco – Porte magro/médio – Gorro comprido – Casaco escuro à altura das coxas – Mochila escura – Usava sapatilhas descartáveis – Nenhuma impressão digital encontrada – Tatuador profissional ou já foi – Pode estar dividindo as tatuagens pelas vítimas – Usa bloodlines para o contorno das tatuagens à mão livre – Não é local; provavelmente de área mais rural – Usa livros para aprender técnicas e tentar ser mais esperto que Rhyme e a polícia? – Obcecado por pele – Possivelmente tem a polícia como alvo – Criminoso organizado; planejará ataques com antecedência – Provavelmente retornou à cena do crime
Morte: envenenamento por cicutoxina, inserida no corpo via tatuagem – Proveniente da cicuta – Fonte desconhecida – Concentração oito vezes maior que o normal
Sedada com propofol – Como foi obtido? Acesso a suprimentos médicos?
Tatuada com “o segundo” em caligrafia gótica, cercado de recortes em formato de concha – Parte de uma mensagem? – Força-tarefa na central de polícia averiguando isso – As conchas são cicatrizações — ou escarificações — e provavelmente são significativas
Máquina de tatuagem portátil como arma do crime – Provavelmente American Eagle
Fibra de algodão – Esbranquiçada – Provavelmente da camisa do Suspeito, rasgada durante a briga
Página do livro – Provavelmente arrancada do bolso do Suspeito durante a luta – Provavelmente livro comercial publicado entre 1996 e 2000 – O livro se chama Cidades em série. Ele estava interessado no capítulo 7, sobre o Colecionador de Ossos
Possível uso de rolos adesivos para remover vestígios das roupas antes do ataque
Algemas
– Genérica, não rastreável
Lanterna
– Genérica, não rastreável
Silver tape
– Genérica, não rastreável
Vestígios
Óxido nítrico, ozônio, manganês ferroso, níquel, liga de prata-berílio, hidrocarboneto clorado, acetileno – Possíveis suprimentos de soldagem oxicombustíveis
Tetrodotoxina
– Veneno de baiacu – Droga zumbi – Quantidades pequenas – Não usada na vítima neste caso
Estercobilina, ureia 9,3 g/L, cloro 1,87 g/L, sódio 1,17 g/L, potássio 0,750 g/L, creatinina 0,670 g/L – Material fecal – Talvez sugerisse interesse/obsessão pelo subterrâneo – Futuros crimes no subsolo?
Cloreto de benzalcônio – Quaternário de amônio, desinfetante industrial Látex adesivo – Usado em curativos e na construção civil, outros usos também
Mármore Inwood
– Pó e pequenos grãos
Explosivo Tovex – Provavelmente de um local de implosões/detonações
Rhyme se afastou do quadro e foi em direção a Amelia Sachs, que ele havia surpreendido observando a manhã fria pela janela. Com certeza ela ainda estava perturbada com as notícias que recebera ontem — de que Pam iria dar a volta ao mundo com seu namorado e de que, quando retornassem, morariam juntos.
Seth era um bom rapaz, dissera Sachs quando eles se deitaram na suntuosa cama de Rhyme na noite anterior, com as luzes apagadas, as janelas balançando com o vento.
— Para namorar, não com quem se entocar em um albergue no Marrocos ou em Goa. Talvez ele seja o Príncipe Encantado, talvez não.
Quem pode dizer?
— Você acha que ela pode desistir?
— Não. Ela está determinada.
— Como você. Lembra que sua mãe não gostou do fato de você estar saindo com um aleijado em uma cadeira de rodas?
— Você podia ser maratonista e minha mãe não teria gostado de você.
Ninguém consegue se encaixar nos padrões dela. Embora ela goste de você.
— Exatamente.
— Eu gosto de Seth. Mas vou gostar mais dele com o tempo.
Rhyme havia sorrido.
— Alguma ideia? — perguntou Sachs.
— Acho que não.
Rhyme fora casado por alguns anos. Havia se divorciado não muito depois do acidente (ele pediu o divórcio, não sua esposa), mas o casamento já estava condenado havia um tempo. Ele tinha certeza de que, em algum ponto do relacionamento, esteve apaixonado, mas as coisas desandaram por motivos que não conseguia isolar, quantificar ou analisar. E quanto ao que tinha com Sachs? Funcionava porque funcionava. Era o melhor que podia dizer sobre o relacionamento. Lincoln Rhyme reconhecidamente não tinha nada a oferecer na área de conselhos conjugais.
E, pensando bem, quem tinha? O amor é uma ocorrência para a qual não há perito.
— E eu não lidei bem com isso — acrescentara Sachs. — Me tornei superprotetora. Maternal. E a coisa ficou feia. Eu devia ter sido objetiva, racional. Mas, não, deixei as coisas fugirem do controle.
E agora, pela manhã, Rhyme podia ver que Sachs ainda estava profundamente angustiada. Ele estava pensando que deveria dizer algo tranquilizador, mas, para seu alívio, o profissional ofuscou o pessoal.
— Temos algo aqui — anunciou Pulaski do outro lado do laboratório, onde encarava o monitor. — Eu acho... — Ficou em silêncio, carrancudo. — Droga de internet. Logo quando eu tinha conseguido um resultado.
Rhyme podia ver que a tela do computador estava travada.
— Ok, ok. Voltou.
Ele digitou mais algumas teclas. Mapas e esquemas e o que pareciam ser listas de componentes e materiais básicos surgiram no monitor maior.
— Você está se saindo um bom cientista, novato — elogiou Rhyme, a respeito das anotações.
— O que você encontrou, Ron? — perguntou Mel Cooper.
— Boas notícias, para variar. Talvez.
A viagem de família de Harriet Stanton para Nova York, que ela esperava ansiosamente havia anos, não estava se saindo como imaginara.
Havia sido descarrilada por um pequeno incidente do acaso que poderia ter mudado sua vida para sempre.
Harriet estava diante de um espelho da suíte do hotel, onde passara uma noite sem dormir, e olhava para seu tailleur. Escuro. Não era preto, mas azul-marinho.
Estivera tão perto de escolher a primeira cor. Foi azar ter escolhido a segunda.
Ela limpou alguma sujeira aleatória da lã, bateu um pouco do pó — o hotel não era tão bom quanto dizia o anúncio na internet (mas era econômico, e simplicidade era importante para a família Stanton, que vinha de uma cidade onde os padrões de hotelaria eram ditados pelo Holiday Inn).
Cinquenta e três anos, ombros estreitos e corpo em forma de pera (embora uma pera fina), Harriet tinha um rosto firme, corado e envelhecido — por causa da jardinagem, por ter de cuidar das crianças depois das aulas no jardim, dos piqueniques e dos churrascos. Era a mulher menos vaidosa do mundo, e os únicos vincos que a incomodavam não estavam em seu rosto, mas na saia de seu tailleur — vincos que podia controlar.
Dado seu destino, um lugar ameaçador, ela podia muito bem ter ignorado a imperfeição. Mas isso não seria típico de Harriet. Havia uma abordagem correta e uma errada, preguiçosa e malfeita. Ela abriu o zíper, afofou a saia que facilmente escorregou pela anágua bege.
Habilidosamente, abriu uma tábua de passar roupas barata com uma só mão (ah, Harriet sabia tudo sobre equipamentos de limpeza) e ligou na tomada o ferro antigo que estava preso à tábua por um fio; o roubo de eletroportáteis em Nova York era um problema tão terrível assim? E o hotel já não tinha o número do cartão de crédito dos hóspedes de qualquer maneira?
Ah, bem. Era um mundo diferente aqui, muito diferente de casa.
Enquanto esperava o ferro esquentar Harriet continuava repassando mentalmente as palavras que o marido dissera no dia anterior, enquanto andavam pelas frias ruas de Nova York.
— Ei, Harriet. Ei! — Ele havia parado no meio da rua, entre a FAO Schwarz e a Madison Avenue, apoiando-se em um poste.
— Querido? — respondera ela.
— Desculpe. Me desculpe. — O homem, dez anos mais velho, parecia envergonhado. — Não estou me sentindo muito bem. Estou sentindo alguma coisa. — Ele havia colocado a mão no peito. — Estou sentindo alguma coisa aqui.
Táxi ou ambulância?, questionara-se ela, furiosamente em dúvida.
Emergência, com certeza. Não se pode brincar com isso.
Em vinte minutos eles estavam na emergência de um hospital das redondezas.
E o diagnóstico: um leve infarto do miocárdio.
— Um o quê? — havia perguntado ela.
Ah, parecia com ataque cardíaco.
Isso era curioso. Com o colesterol baixo, o homem nunca havia fumado cigarros em toda a vida, somente charutos, e mesmo assim ocasionalmente, e seu corpo de quase um metro e noventa era firme e esguio como o poste em que havia se agarrado para não cair quando teve o ataque. Ele fazia trilhas pelas florestas procurando cervos e javalis todo fim de semana durante a temporada de caça quando tinha tempo. Ele ajudava amigos a montar salas de recreação e garagens. Todo fim de semana carregava nos ombros quase vinte quilos de folhas e terra da picape até a choupana.
— Isso não é justo — murmurara Matthew, após ouvir o diagnóstico. — Nossa viagem dos sonhos para a cidade grande e olha o que acontece. Isso não é nem um pouco justo.
Como precaução, os médicos o transferiram para um hospital meia hora de viagem ao norte do hotel, que aparentemente possuía a melhor estrutura para pacientes com problemas cardíacos da cidade. Seu prognóstico era excelente e ele seria liberado no dia seguinte. Não havia necessidade de cirurgia. Haveria alguns medicamentos a serem tomados para baixar a pressão sanguínea e ele, de agora em diante, carregaria tabletes de nitroglicerina. E tomaria uma aspirina por dia. Mas os médicos pareciam tratar o ataque como algo menor.
Para testar a temperatura do ferro, ela cuspiu na placa de Teflon. A gota chiou e pipocou. Harriet borrifou na saia um pouco de água da sua garrafa de Danone e passou os vincos até que desaparecessem.
Colocando a saia novamente, ela se reexaminou no espelho. Bom. Mas decidiu que precisava de alguma cor e, com isso, amarrou uma echarpe de seda vermelha e branca em volta do pescoço. Perfeito. Brilhante, mas não extravagante. Pegou sua bolsa e saiu do quarto, descendo até o hall de entrada em um elevador externo cujas correntes tilintavam a cada andar que passava.
Uma vez fora do hotel, Harriet se orientou e acenou para um táxi. Disse ao motorista o nome do hospital e se sentou no banco traseiro. O interior do carro cheirava a mofo, e ela acreditava que o motorista, algum estrangeiro, não havia tomado banho recentemente. Um clichê, mas era verdade.
Apesar do tempo ruim, ela baixou o vidro da janela, preparando-se para discutir, caso fosse contestada. Mas não fora. O motorista parecia estar alheio a ela — bem, a tudo. Ligou o taxímetro e acelerou.
Enquanto chacoalhava no táxi barulhento rumo ao norte, Harriet pensava na estrutura do hospital. A equipe parecia atenciosa e os médicos, profissionais, mesmo que o inglês deles soasse estranho. A única coisa de que não gostava era o quarto de Matthew no Centro Médico de Upper Manhattan ser no subsolo ao fim de um corredor longo e escuro.
Decadente e assustador. E, quando ela o visitara na noite anterior, estava deserto.
Olhando para as belas casas e condomínios à esquerda e para o Central Park à direita, Harriet tentava deixar de lado toda a preocupação em visitar o local desagradável. Pensava que talvez o azar do ataque cardíaco do marido fosse um presságio, insinuando que algo pior estava por vir.
Mas depois reduziu esses sentimentos a meras superstições, pegou seu telefone e mandou uma mensagem alegre dizendo que estava a caminho.
Com a mochila nos ombros — a sacola contendo a máquina American Eagle e algum veneno mortal —, Billy Haven pegou uma rua lateral, atravessando uma grande área de construção, evitando pedestres.
Isto é, evitando testemunhas.
Ele entrou no anexo de clínicas médicas, próximo ao complexo do Centro Médico de Upper Manhattan. Na entrada, manteve a cabeça abaixada e andou determinado em direção à escadaria. Havia verificado o local e sabia exatamente para onde estava indo e como chegar lá sem ser visto.
Ninguém prestou atenção no jovem magro, como tantos outros jovens magros em Nova York, um artista, um músico, um ator ambicioso.
Assim como eles.
Embora suas mochilas não tivessem o mesmo conteúdo que a dele.
Billy abriu a porta da saída de incêndio e desceu as escadas. Foi até o subsolo e seguiu as placas até o hospital, passando por um corredor longo e escuro. O local era deserto, como se muitos funcionários não soubessem da existência daquele lugar. Mais provável: estavam até cientes da rota sombria, mas preferiam caminhar da ala clínica até o hospital pela superfície, onde não só se encontrava um Starbucks e uma das tradicionais pizzarias do Ray como também não se corria o risco de ser arrastado até uma despensa e estuprado.
O túnel que levava até o hospital era longo — com centenas de metros —, pintado de uma cor cinza associada a navios de guerra. Canos percorriam o alto da passagem. E ela era escura porque o hospital, para economizar energia, havia colocado uma lâmpada a cada três soquetes. Não havia câmera de segurança.
Billy sabia que o tempo era crucial, mas que, naturalmente, teria de fazer uma parada. Havia notado o desvio ontem, quando verificara se esta seria uma rota adequada até o hospital.
A placa na porta o havia deixado intrigado.
Ele simplesmente tinha de entrar.
E entrou, agora, ciente da pressão imposta pelo tempo. Mas se sentindo como uma criança matando aula para ir a uma loja de brinquedo.
A grande sala, identificada com uma placa onde estava escrito Amostras, estava escura, mas era suficientemente iluminada pelas luzes da saída de emergência, que lançavam uma misteriosa iluminação rosada sobre o que estava ali dentro: milhares de frascos contendo partes de corpos que flutuavam em um líquido amarelado, possivelmente formaldeído.
Olhos, mãos, fígados, corações, pulmões, órgãos sexuais, seios, pés.
Fetos inteiros também. Billy notou que a maioria das amostras datava do início do século XX. Talvez nessa época os estudantes de medicina usassem amostras reais para o estudo de anatomia, enquanto a geração atual estava acostumada com imagens em alta resolução no computador.
Na parede havia prateleiras com ossos, centenas deles. Na hora Billy se lembrou do infame caso em que Lincoln Rhyme havia trabalhado anos antes, os crimes do Colecionador de Ossos. Mesmo assim, ossos não eram do interesse de Billy Haven.
A Lei dos Ossos?
Não, não soava tão bem quanto a Lei da Pele. Sem comparações.
Ele agora andava para cima e para baixo nos corredores, examinando os frascos, que variavam em tamanho, de centímetros até um metro de altura.
Parou e encarou, olho no olho, uma cabeça decepada. As características lhe pareciam ter ascendência do sul do Pacífico, ou ele queria acreditar — porque, para seu deleite, a cabeça tinha uma tatuagem: uma cruz um pouco abaixo de onde a linha do início do couro cabeludo deveria estar.
Billy entendeu isso como um bom sinal. A palavra “tatuagem” vem do polinésio ou do samoano tatau, o processo de marcar com tinta o torso dos homens com um desenho geométrico elaborado, chamado pe’a (e o da mulher com processo parecido, chama-se malu). O processo leva semanas e é extremamente doloroso. Aqueles que completam o desenho ganham um título especial e são respeitados por sua coragem. Os que nem tentam são chamados de “pelados” em samoano e marginalizados. Entretanto, o pior estigma é reservado ao homem ou à mulher que começava o procedimento e não terminava por não conseguir suportar a dor. A vergonha permanecia para sempre.
Billy gostava do fato de eles se definirem pelo relacionamento com a tatuagem.
Ele decidiu acreditar que o homem que encarava ali havia suportado receber seu pe’a e se tornara uma força em sua tribo. Mesmo que um bárbaro, ele era corajoso, um bom guerreiro (ainda que não fosse inteligente o suficiente para evitar ter sua cabeça exposta como amostra em uma prateleira de ferro no Novo Mundo).
Billy pegou o recipiente e se aproximou, até estar a alguns centímetros da cabeça decepada, separados apenas por um vidro grosso e o líquido transparente.
Ele pensou em um de seus livros favoritos. A ilha do doutor Moreau. O romance de H. G. Wells que contava a história de um jovem inglês náufrago em uma ilha, onde o médico do título cirurgicamente unia humanos e animais. Homem-hiena, Homem-leopardo... Billy havia lido e relido o livro assim como as crianças leem Harry Potter ou Crepúsculo.
Vivissecção e recombinação eram o ápice da modificação, naturalmente.
E Doutor Moreau era o exemplo perfeito da aplicação da Lei da Pele.
Tudo bem. Hora de voltar para a realidade, pensou ele ao se repreender.
Billy saiu da sala e olhou para os dois lados do corredor. Ainda deserto.
Continuou seu caminho até o hospital e percebeu quando havia passado pela entrada do prédio. O aroma neutro de produto de limpeza e mofo do prédio de escritório havia sido substituído por uma mistura de cheiros.
Desinfetantes doces, álcool, Lysol, Povidine.
E os outros, repulsivo para alguns, mas não para Billy: os cheiros de pele em decomposição, pele se dissolvendo por infecções ou bactérias, pele queimando e virando cinza... talvez devido aos lasers nas salas de cirurgia.
Ou talvez os empregados do hospital estivessem eliminando órgãos e tecidos descartados em um forno em algum lugar. Não conseguia pensar nisso sem se lembrar dos nazistas, que usaram as peles das vítimas do Holocausto para propósitos práticos, como para fazer abajures ou livros. E idealizaram um sistema de tatuagens que foi o mais simples e mais significativo — da história.
A Lei da Pele...
Billy respirou fundo.
Ele sentiu outro aroma: extremamente ofensivo. O que era? O quê?
Ah, entendeu. Com tantos empregados estrangeiros na área médica, a comida do hospital levava curry e alho.
Nojento.
Billy finalmente entrou no coração do hospital, no terceiro andar do subsolo. O local era completamente deserto, perfeito para levar uma vítima para uma modificação letal, refletiu.
O elevador poderia ter câmeras de segurança, por isso foi até as escadas e começou a subir. No andar subterrâneo seguinte, número dois, ele parou e espiou. Era o necrotério, no momento sem funcionários por perto.
Aparentemente, los doctores ainda não haviam conseguido matar ninguém hoje.
Subindo mais um andar no subsolo, encontrou um piso com leitos.
Espiando pelo vidro gorduroso da porta da saída de incêndio, entremeado por uma malha fina de metal, ele via lampejos de cores e depois movimento: uma mulher caminhando pelo corredor, virada de costas para ele.
Ah, pensou, notando que, enquanto sua saia e seu blazer eram azul-marinho, a echarpe no pescoço era vermelha e branca de seda brilhosa.
Parecia uma bandeira no cenário monótono. E ela estava sozinha. Billy cuidadosamente passou pela porta e a seguiu. Percebeu suas pernas musculosas — reveladas pela saia à altura do joelho —, notou sua cintura fina, seu quadril. O cabelo, em um coque apertado, era castanho e um pouco grisalho. Mesmo que a meia-calça transparente revelasse algumas veias arroxeadas próximas ao tornozelo, sua pele era esplêndida para uma mulher mais velha.
Billy se sentiu excitado, o coração batendo acelerado, o sangue latejando em suas têmporas. E em outros lugares.
Sangue. A Sala do Oleandro... Sangue no carpete. Sangue no chão.
Afaste esses pensamentos. Agora! Pense na Garota Adorável.
Assim o fez, e os desejos diminuíram. Mas diminuir não é desaparecer.
Às vezes, apenas se cede. Quaisquer que sejam as consequências.
Oleandro...
Moveu-se mais rápido agora, aproximando-se por trás dela.
Dez metros, oito...
Billy chegou mais perto, a cerca de quatro metros de distância, dois, um, seus olhos encarando as pernas da mulher. Foi quando ouviu uma voz feminina resoluta vindo de trás dele.
— Você, de boné. Polícia! Largue a mochila. Mãos na cabeça!
A cerca de nove metros de distância, Amelia Sachs sacou sua Glock e repetiu, mais duramente: — Mochila no chão! Mãos na cabeça! Agora!
A mulher que estava prestes a ser atacada, apenas a poucos metros dele, virou-se. A confusão em sua expressão se transformou em horror quando ela deu de cara com o suposto agressor e entendeu o que estava acontecendo.
— Não, por favor, não!
Ele usava uma jaqueta, mas não aquela que ia até a altura da coxa, segundo a testemunha, porém estava com o mesmo gorro longo e a mochila preta. Se ela estivesse errada, iria se desculpar.
— Agora! — ordenou Sachs de novo.
Ainda de costas para a policial, ele levantou as mãos lentamente.
Quando sua manga desceu, Sachs avistou uma tatuagem vermelha no braço, começando no dorso da mão e desaparecendo sob a manga. Uma cobra, um dragão?
Ele estava com as mãos erguidas, sim, mas não soltava a mochila.
Merda. Ele vai fugir.
E, como previsto, num instante, o suspeito baixou o gorro, cobrindo o rosto como uma máscara de esqui, e avançou, agarrando a mulher e girando-a. Colocou os braços em volta do pescoço dela. A mulher chorava e se debatia. Seus olhos escuros se arregalaram de medo.
Ok, ele é o Suspeito Cinco-Onze.
Sachs avançou devagar, a mira traseira da Glock buscando um alvo certeiro.
Não conseguiu encontrar. Por causa da refém em pânico, que lutava para se soltar, dando chutes e se contorcendo. Ele pressionou o rosto na orelha da mulher, aparentemente sussurrou algo e, com os olhos esbugalhados, ela parou de se debater.
— Estou armado! — gritou ele. — Vou matar essa mulher. Larga a arma.
Agora.
— Não — retrucou Sachs.
Porque nunca se deve soltar a arma, nunca se deve perder o alvo. Ponto final. Ela duvidava que ele tivesse uma arma — pois, a essa altura, já teria sacado e começado a atirar —, mas, mesmo que tivesse, nunca deveria baixar a mira.
Sachs mirou na cabeça do suspeito. Era um tiro fácil com o alvo imóvel, mas ele andava para trás e para os lados, sempre se abaixando atrás da refém.
— Não, por favor, não me machuque. Por favor! — A mulher chorava baixinho.
— Cala a boca! — exclamou o suspeito rispidamente.
— Presta atenção, você não tem como sair daqui — disse Sachs, tentando ser razoável. — Mãos para o alto e...
Uma porta próxima se abriu e um homem magro de uniforme azul entrou no corredor. Foi distração suficiente para desviar o foco de Sachs por um instante.
E aquilo foi o bastante para o suspeito aproveitar a chance. Arremessou a vítima na direção de Sachs e, antes que a policial pudesse se esquivar da mulher e ajeitar a mira, ele abriu caminho por outra porta e desapareceu.
Sachs passou correndo pela mulher de tailleur azul-marinho. Aterrorizada, ela a fitou com os olhos arregalados, recuando até a parede.
— O que ele...?
Não havia tempo para explicar. Sachs empurrou a porta e deu uma olhada no interior. Nenhuma ameaça, nenhum alvo. Gritou para trás na direção da mulher e do médico: — Voltem para o lobby. Agora! Esperem lá! Liguem para a emergência.
— Quem...? — perguntou a refém.
— Vai!
Sachs se virou e atravessou a porta pela qual o suspeito havia desaparecido. Escutou. Um clique fraco, vindo de baixo. Fazia sentido; ele não escaparia pelo andar superior. O Suspeito Cinco-Onze era o homem do subterrâneo.
Sachs não tinha ido para lá numa missão tática, portanto não estava com um rádio, mas tirou seu iPhone do bolso e ligou para a emergência. Era mais fácil que tomar o caminho mais longo até a central. Relatou um 10-13
em andamento, policial em busca de apoio. Ela imaginou que a refém e o funcionário do hospital também ligariam, mas havia uma chance de eles terem simplesmente desaparecido, sem querer se envolver.
Desceu mais um lance de escada. Com passos uniformes, mas devagar.
Quem poderia garantir que o cara não havia feito barulho com a porta do térreo para enganá-la e, então, voltado para atirar com a arma que ele, no fim das contas, realmente carregava no bolso?
Sachs nunca imaginara que nessa visita acabaria se deparando com o suspeito. Fora até lá apenas para verificar se algum funcionário tinha visto alguém que se encaixasse na descrição do criminoso. Rhyme havia especulado que um ataque a esse hospital poderia acontecer. O perfil traçado por Terry Dobyns dizia que, sendo um criminoso organizado, o suspeito planejaria os ataques com antecedência. Isso significava que alguns dos vestígios que encontraram na cena do assassinato de Chloe Moore poderiam ter vindo de locais de futuros envenenamentos.
Ron Pulaski descobrira, quarenta minutos atrás, que os vestígios de mármore Inwood que Sachs coletara eram característicos daquela parte de Manhattan, e que as licenças para detonação foram entregues ao empreiteiro para erguer uma nova ala do Centro Médico de Upper Manhattan. Outros vestígios — o desinfetante industrial de quaternário de amônio e o adesivo que poderia ser usado em curativos — também sugeriam que o suspeito havia passado pelo hospital para planejar o ataque contra a vítima número dois.
Sachs não fazia ideia de que, na verdade, o interromperia.
Respirando fundo, ela parou perto da porta de incêndio e a empurrou, atravessando-a já em posição de disparo. Fazendo a varredura com a mira para os lados. Este era o andar do necrotério; havia quatro funcionários usando uniforme cirúrgico, conversando e tomando café, parados ao lado de duas macas cobertas.
Eles se viraram, notaram a arma, viram Sachs e esbugalharam os olhos, paralisados.
Sachs ergueu o distintivo.
— Homem branco de casaco escuro. Mais ou menos um metro e oitenta, gorro longo ou máscara de esqui. Magro. Passou por aqui?
— Não.
— Há quanto tempo estão aqui?
— Dez, quinze min...
— Entrem no prédio e tranquem a porta.
Um dos atendentes começou a empurrar a maca pela porta.
— Só os vivos — disse Sachs.
De volta à escadaria escura. Descendo mais. Chegou ao andar mais baixo do porão. Ele tinha de estar aqui.
Vai.
Rápido.
Enquanto você estiver em movimento, eles não podem te pegar.
Ela irrompeu pela porta, mirando da direita para a esquerda.
O andar estava deserto, designado mais para infraestrutura e armazenamento, pelo que parecia.
Ela continuou a vasculhar, direita, esquerda. Pois, em seu subconsciente, havia a sensação de que aquilo não era uma fuga, de jeito algum. Talvez fosse uma armadilha. Talvez ele estivesse se escondendo ali para matar quem o perseguia.
Ela se lembrou do trecho sobre Rhyme no livro Cidades em série: Peritos forenses compartilham em uníssono da opinião de que a maior habilidade de Lincoln Rhyme era a capacidade de antecipar o que o criminoso que ele persegue fará em seguida.
Talvez o Suspeito Cinco-Onze também estivesse se antecipando.
Terry Dobyns também havia sugerido que ele poderia ter a polícia como alvo.
Enquanto seus olhos se acostumavam à escuridão, Sachs examinou o corredor. Ele não poderia ir para a esquerda — era sem saída. À direita, dizia uma placa, ficava o túnel que levava ao prédio de consultórios médicos.
Ele poderia escapar por aquela direção... ou ficar esperando por Sachs.
Não havia nada a se fazer, a não ser encarar o problema.
Hora de ser durona...
Ela seguiu naquela direção.
De repente, um vulto apareceu diante de Sachs, descendo pelo túnel.
Sachs parou, encostou-se à parede com a mira alta, mas ainda apontando a arma para o homem.
— Ei — chamou ele. — Estou vendo você. Você é da polícia?
Um afrodescendente robusto usando um uniforme preto de segurança — mais intimidador que qualquer uniforme da polícia — se aproximou.
— Estou vendo você, policial.
— Vem cá! — sussurrou ela rispidamente. — Busque cobertura. Tem um criminoso em algum lugar.
Ele se juntou a Sachs, e ambos se posicionaram colados à parede.
— Amelia.
— Eu me chamo Leron. — O homem tinha um olhar ligeiro e analisou o corredor. — Ouvi falar de um 10-13 em andamento.
— Ouviu falar?
— Tenho um rádio que sintoniza frequências da polícia.
— Reforço a caminho?
— Sim.
Sachs notou que ele portava uma Beretta Nano na cintura, uma arma pequena, de 9mm, e certeira o suficiente em boas condições se você fosse bom em dispará-la. Não era comum ver um guarda de hospital armado. Ela reparou que o homem ainda não havia sacado a arma. Não precisava, não havia alvo. Isso dizia tudo sobre ele.
— Você era de qual distrito?
— Décimo nono.
Um dos departamentos no Upper East Side.
— Patrulha. Aposentado por questões médicas. Diabetes. Um saco.
Manter o peso baixo. — A respiração dele estava pesada. — Não que você...
— Você veio do edifício dos consultórios médicos?
— Isso. Fiquei a cargo dele hoje. A segurança do hospital me chamou. — Ele olhou atrás dela e deu um sorriso. — Nenhum dos caras que trabalham comigo quis vir e dar uma olhada. Rá.
— Então ele não pode ter seguido naquela direção.
— Não. Não passou por mim. — Leron vasculhou novamente atrás deles, à esquerda e à direita.
Então, o Cinco-Onze estava em algum lugar ali por perto. Mas não havia muitos lugares para se esconder. Apenas algumas portas, e a maioria delas — depósitos, casas de força e de infraestrutura — estava trancada com cadeados.
— Mochila — sussurrou Leron.
— Isso.
— Bomba?
— Não é o modus operandi dele. Acreditamos que seja um serial killer.
— Arma?
— Disse que tinha, mas não vi nenhuma.
— Se eles dizem que tem e não mostram, geralmente não estão armados.
Isso era verdade.
— Mas é hora de você subir as escadas, Leron. — Indicou com o olhar a escadaria. — Eu assumo daqui. — Ela deveria manter os civis (categoria na qual Leron se encaixava, mesmo que usasse um uniforme de forças especiais e uma arma italiana feita nos Estados Unidos) fora de situações táticas.
— Desculpa, detetive — disse o homem com firmeza. — O hospital é meu território. Ninguém vai foder com ele. Se você me mandar ficar aqui, vou te seguir do mesmo jeito. E acho que você não vai querer ouvir passos atrás de você num lugar assustador como esse.
O reforço, pensou ela, ainda estava a dez ou quinze minutos de chegar.
Sachs relutou. Mas não por muito tempo.
— Combinado. Só não dispare essa sua arminha aí, a não ser que o criminoso esteja prestes a enfiar uma bala em mim. Ou em você. E, se você levar um tiro, vou passar uma eternidade preenchendo relatórios. Isso vai me deixar puta.
— Entendido.
— Ficaremos juntos, Leron. Agora, vamos.
Enquanto se deslocavam com cuidado, encostados à parede, Sachs perguntou ao guarda: — Onde você se esconderia?
— Ele não pode ter seguido naquela direção. — Leron indicou o corredor à direita. — Sem saída e sem portas para entrar. Ele tem que estar em algum lugar nesse corredor. — Gesticulou para a frente.
Sachs tomou a dianteira, e eles andaram cerca de seis metros pelo túnel que ligava o hospital ao edifício de consultórios médicos.
— Ali? — sussurrou ele. Os banheiros masculino e feminino ficavam um em frente ao outro.
Sachs acenou com a cabeça.
— O feminino tem várias divisórias — continuou Leron. — Deixa aquele ali comigo. E...
— Eu vou, você espera aqui.
— Posso dar cobertura.
— Não, se ele ver que nós dois entramos e estiver em outro lugar, vai fugir. — Sachs estava falando perto do ouvido de Leron. O segurança usava uma loção pós-barba de aroma agradável. — Se você disparar, lembre-se dos azulejos.
— Entendi. Eles amplificam o som. Um tiro e nós dois ficamos surdos por cinco minutos. Já aconteceu comigo. Se isso acontecer, teremos que nos guiar pela visão. Não vamos ouvi-lo se aproximar... Isso é, se eu não o acertar. Não sou, nem de longe, Amelia, um atirador ruim.
Sachs gostou dele.
— Você já fez isso antes.
— Muitas, muitas vezes.
— Saque a arma — pediu ela.
A diminuta arma estava agora em suas mãos, apequenada e quase invisível em contraste com a pele escura. Ele usava dois anéis: um de casamento e um sinete da academia de polícia.
— Vou te dar cobertura. Vai.
Sachs invadiu o banheiro feminino.
Nada de mais. Havia apenas duas cabines e as portas estavam abertas.
Então saiu. Vasculhando. Ele fez um sinal de “tudo limpo”.
O processo foi ainda mais rápido no banheiro masculino, que só tinha uma cabine.
Saíram novamente, Sachs observava as doze despensas distribuídas pelo corredor. Então notou que a cabeça de Leron estava virada para o lado. Ele encostou o dedo na orelha e apontou para uma porta a uns seis metros dali. Tinha escutado algo. A porta estava marcada com a palavra Espécimes.
— Um barulho — sussurrou o segurança. — Lá dentro. Tenho certeza.
— Alguma janela?
— Não. Estamos no subsolo aqui.
— Trancada?
— Sim, mas isso não significa nada. Qualquer um consegue abrir essas portas se tiver um grampo de cabelo. Mulheres ainda usam isso?
— Claro que usamos. Para abrir portas.
Ambos se aproximaram. Havia uma janelinha na porta com o vidro quebrado, e o guarda se agachou do outro lado enquanto eles a cercavam.
Você já fez isso antes...
Amelia Sachs refletiu.
Era bem provável que do outro lado houvesse um criminoso, possivelmente armado — ou pelo menos em posse de toxinas mortais.
Esperar pelo reforço do Serviço de Emergência? Com equipamento bioquímico?
Ponderando...
Sim, não?
Decidiu. Iria entrar. A cada minuto que passava o suspeito poderia se fortificar atrás de barricadas e armadilhas.
Mas, acima de tudo, entraria porque queria fazer isso.
Precisava entrar. Pensando: não dá para explicar, Rhyme. As coisas são assim.
Enquanto você estiver em movimento...
— Me dê cobertura — pediu, movendo os lábios sem emitir som. — Do corredor.
— Não, eu... — Mas Leron ficou em silêncio, encarando-a. Ele fez que sim com a cabeça.
Sachs segurou a fechadura. Girou. Destrancada.
Então empurrou... A porta se escancarou, sem revelar nada do outro lado, a não ser escuridão. Sachs deslizou para a esquerda e se agachou, assim não seria uma silhueta em frente à porta aberta.
Então um ruído alto veio da esquerda, dos fundos do cômodo.
Leron se moveu rápido quando Sachs sussurrou com veemência para ele:
— Não!
Mas o guarda avançou de qualquer maneira, galante, vindo oferecer uma ajuda de que ela não precisava, um resgate que serviu apenas como distração.
Para o que viria a seguir.
— Cuidado! — gritou Sachs, ao notar algo voando na escuridão, na direção de Leron. O objeto cintilou com a luz que vinha da porta enquanto descrevia um arco no ar. Ela sabia que o frasco continha alguma toxina, mais cicutoxina ou talvez aquela merda zumbi do peixe.
Sem antídoto...
— É veneno! — gritou ela, e se abaixou instintivamente. Leron pulou para o lado, mas tropeçou e caiu feio de costas. Grunhiu de dor.
Porém, ao que parecia, o suspeito não havia mirado diretamente nela ou no guarda. Claro que não. O frasco não quebraria se os atingisse; ele tinha jogado para o alto, para o teto.
Leron estava diretamente abaixo do frasco quando o objeto atingiu um cano e se espatifou. O veneno choveu nele. Leron derrubou sua Nano e começou a gritar.
Quando Sachs conseguiu ficar em pé, o suspeito já havia saído pela segunda porta, que dava na sala de espécimes, a nove metros seguindo pelo corredor. Ela ouvia o barulho de seus passos diminuindo enquanto ele corria para o edifício de consultórios médicos.
Sachs se voltou para Leron, que gemia e esfregava desesperadamente o rosto.
— Água, tira isso de mim... Não consigo enxergar.
O que era aquilo? Ela sentiu um odor nauseante, adstringente.
Ácido! Partes do rosto de Leron pareciam estar derretendo.
Meu Deus!
Sachs ponderou. Ir atrás do suspeito... ou fazer tudo que fosse possível para ajudar Leron?
Merda. Ela pegou o telefone e ligou para a emergência de novo, relatando que o criminoso estava fugindo pelo túnel de ligação até o edifício de consultórios médicos perto do hospital.
Então correu até um hidrante de parede perto deles e arrancou a mangueira do suporte, ligando o jato de água e atingindo o peito e o rosto de Leron. Isso não parecia oferecer muito alívio, a julgar pelos gritos do homem, muito mais altos que o intenso barulho da água saindo.
— Não, não, não... — Então o homem robusto se sentou, balançando as mãos vigorosamente. — Chega, chega, chega!
Ele começou a engasgar, e Sachs percebeu que estava direcionando o fluxo de água para seu rosto, quase o afogando. Ela fechou o registro.
Leron se ajoelhou, cuspindo.
Seus olhos estavam vermelhos, mas, de modo geral, ele parecia bem — a não ser pelo sufocamento.
— Como você está se sentindo? — perguntou ela. — Está queimado?
Era ácido? Veneno?
— Estou bem, estou bem... Tudo bem.
Sachs olhou para o chão com os olhos semicerrados, o vidro quebrado.
Caminhou até um estilhaço que continha uma etiqueta amarelada.
Ah.
Leron assentiu, semicerrando os olhos.
— Ele jogou uma das amostras em mim, um espécime. Um dos jarros, certo?
— Parece que sim. Provavelmente formaldeído.
— Arde, mas não muito. Você tirou a maior parte com a água.
Sachs vasculhou o chão e notou a presença de uma amostra de tecido animal, perto de onde Leron estava sentado. Ela havia achado que o suspeito jogara ácido, que derretera a pele do guarda. Na verdade, a pele vinha do que estava dentro do pote de vidro.
Leron também olhou para baixo, então cutucou o pedaço de carne rugoso com o pé.
— Merda. Isso é o que eu acho que é?
— Eu diria que sim.
— Ele arremessou um pinto com as bolas em mim? Filho da puta.
Depois que você meter a algema nele, quero uns minutos a sós com esse cretino, Amelia.
No prédio de consultórios médicos, Billy Haven emergia do túnel de ligação, onde seus perseguidores — uma policial e um segurança — estavam, assim esperava, contorcendo-se de dor e esfregando os olhos inflamados.
Ele não havia reparado na quantidade exata de formaldeído que lançara nos dois — é claro, não poderia ter ficado para assistir, ainda que aquela visão pudesse ter sido muito atraente.
Avistou um banheiro masculino em um corredor deserto, entrou nele e se enfiou numa cabine. Revirou a mochila atrás de uma muda de roupas.
Não havia muitas opções. Vestiu um macacão e trocou o gorro de lã por um boné com o logotipo dos Mets. Pegou também uns óculos de leitura de armação preta. Por fim, retirou uma bolsa de lona e enfiou a mochila e o casaco nela. Trouxera a bolsa exatamente com esse propósito — mudar de identidade em caso de fuga.
Deverás estar preparado para tornardes outra pessoa...
Saiu devagar do banheiro e se encaminhou para a entrada. Estava prestes a cruzar a porta dupla da entrada principal e sair para a rua quando um carro de polícia apareceu, seguido por outros dois, com os pneus cantando em breves derrapadas. Policiais saltaram dos veículos e começaram a conversar com todos os homens brancos e com idade entre 15 e 50 que estavam perto do prédio, pedindo identidade e vasculhando pertences.
Merda.
Logo, outros policiais chegaram, além de um grande caminhão azul e branco do Serviço de Emergência do Departamento de Polícia de Nova York. Eles formaram um perímetro na fachada — e provavelmente se agrupavam nos fundos e também na plataforma de carga.
Billy voltou para dentro. Estremeceu de raiva. A presença inesperada da policial tinha arruinado tudo. Ele havia ficado surpreso ao ver que era Amelia Sachs em pessoa, ironicamente, com aquele olhar tão insensível quanto na foto ilustrativa do capítulo 7 de Cidades em série. Vestindo basicamente a mesma roupa nada sexy também. Ah, ele queria tanto colocá-la de bruços e fazer nela uma de suas modificações. A trombeta.
Brugmansia. Letal, com efeito rápido, mas não tanto a ponto de poupá-la de morrer sentindo uma dor excruciante.
Mas, antes, ele precisava sair dali. Os policiais, ao que parecia, estavam se preparando para vasculhar o prédio.
E ele sabia que fariam isso rigorosamente.
A primeira leva de policiais foi em direção à porta.
Billy deu a volta casualmente e se dirigiu para perto do elevador, onde fez uma pausa e, tão despreocupado quanto pôde, começou a analisar com atenção o quadro com a lista de médicos como se não tivesse uma única preocupação no mundo — a não ser encontrar um especialista para remover uma pinta ou para fazer uma colonoscopia.
Colocou a cabeça para pensar, furiosamente. O edifício tinha dez ou onze andares. Será que possuía escadas de incêndio externas?
Provavelmente não. Não eram mais tão comuns. Era possível que houvesse escadarias à prova de fogo, levando a portas sem placas e dando acesso a algum beco. Os policiais o estariam esperando lá, é claro. Armas em punho, à espera do criminoso.
Então notou a placa de um consultório no sexto andar. Billy Haven meditou por um instante.
Nada mau, concluiu, e se afastou do quadro com a lista de médicos enquanto os primeiros policias entravam no lobby.
Estarás sempre pronto para improvisar...
Lon Sellitto correu a passos curtos até o corredor principal do Centro Médico de Upper Manhattan. O elevador parecia estar demorando — quatro pessoas esperavam por ele; pacientes impacientes, brincou consigo mesmo —, então desceu pelas escadas até o subsolo, onde Amelia Sachs havia impedido o suspeito de realizar outro ataque. Impediu-o na hora H, pelo que parecia. Se Rhyme e Pulaski não tivessem descoberto antes o lugar que o criminoso estivera sondando, estariam agora encarando um homicídio, e não liderando uma caçada.
Seu distintivo, preso no cinto, balançava sob sua volumosa barriga. Com seu casaco Burberry pendurado no braço, Sellitto andava rápido e estava sem fôlego.
Malditas dietas. Existia alguma que funcionasse?
Além disso, preciso malhar mais.
Penso nisso depois.
Desceu as escadas, entrou na unidade de atendimento cardíaco e andou uns cinquenta metros antes de chegar à sala que queria. Havia dois policiais do lado de fora, um latino e um negro. No quarto, viu na cama um homem de cabelos brancos, esguio e com um rosto cheio de rugas — e aborrecido.
Sentada numa cadeira ao lado estava uma mulher de beleza um tanto masculina, com uns 50 anos, calculou ele. Vestia um tailleur azul-marinho conservador, meias quase opacas e um lenço claro no pescoço. Não havia vida em seu rosto oblongo, e os olhos verdes analisavam a sala impacientemente. Então ela viu Sellitto de relance no corredor e voltou sua atenção ao paciente. Suas mãos avermelhadas picavam um pedaço de papel. Um jovem loiro — um pouco parecido com ela, provavelmente o filho — estava sentado do outro lado da cama.
Sellitto fez um sinal para os policiais e eles se afastaram da porta do quarto.
— Então. E a detetive Sachs? — perguntou o detetive em voz baixa.
— Ela ficou com o guarda, o segurança do hospital, até os caras da emergência chegarem. Agora está vasculhando o corredor e a sala onde o criminoso os atacou. Ela já examinou a cena onde o suspeito estava perseguindo a vítima, a mulher. — Indicou o quarto do hospital com a cabeça. Nome no distintivo: Juarez.
— Era veneno?
— Nem.
— Nem? — caçoou Sellitto.
O garoto não entendeu que ele escarnecia e continuou: — Nem. O criminoso arremessou um dos jarros do depósito, ou algo do tipo, na direção dela e do segurança. Quebrou. O segurança foi atingido com seja lá que merda estivesse dentro do frasco. Ele já foi policial. Se aposentou do décimo nono.
— A detetive Sachs não se machucou — acrescentou o parceiro.
Williams.
— Que tipo de merda era?
— Eles não sabem — respondeu Juarez. — Mas o primeiro relatório foi de que poderia ser ácido ou algo parecido.
— Desgraçado. Ácido?
— Nem, nem era. Apenas líquido para preservação.
— O hospital está seguro? — perguntou Sellitto.
— Interditado, isso. — A última palavra daquela frase fez Sellitto lançar um olhar fulminante em direção a Juarez. Dessa vez ele percebeu. — Sim, senhor. Correto. Mas temos quase certeza de que ele está no prédio ao lado.
A detetive Sachs o viu escapar pelo túnel de acesso. É a única saída. Ali, pelo edifício com os consultórios médicos.
— E o pessoal do Serviço de Emergência acha que ele está lá?
— Ele teria que ser rápido, muito rápido, para fugir — respondeu Juarez. — A detetive Sachs relatou o ataque imediatamente. O lugar foi fechado em dois minutos. É possível que ele tenha escapado, detetive, mas é bastante improvável.
— Dois minutos.
Sellitto passou a mão pela gravata amarrotada, como se isso fosse fazê-la ficar lisa como aço, mas então esqueceu o assunto. Tirou do bolso um caderninho surrado e entrou no quarto.
Identificou-se.
— Meu nome é Matthew Stanton — disse o homem na cama. — Não tem segurança aqui? — Seus olhos escuros encararam Sellitto como se o detetive tivesse deixado a porta aberta para o psicopata.
Sellitto entendia, mas tinha um trabalho a fazer.
— Estamos investigando isso. — O que, na verdade, não respondia a pergunta. Então se virou para a mulher. — E você é...?
— Minha esposa — respondeu o homem rispidamente. — Harriet. Aquele é meu filho, Josh.
O rapaz se levantou e deu um aperto de mão em Sellitto.
— Você poderia me dizer o que aconteceu? — perguntou o detetive a Harriet.
— Ela estava apenas passando pelo corredor, vindo me visitar — respondeu Matthew asperamente. — E aquele...
— Senhor, por favor. Eu estava falando com sua esposa.
— Certo. Mas vou conversar com meu advogado. Quando voltarmos para casa. Vou abrir um processo.
— Sim, senhor. — Ergueu uma sobrancelha para Harriet.
— Estou, estou um pouco nervosa — disse ela.
Sellitto não estava com vontade de sorrir, mas o fez de qualquer modo.
— Está tudo bem. Leve o tempo que precisar.
Harriet parecia entorpecida ao explicar que a família havia chegado à cidade muitos dias atrás com o filho e o primo dele. Escolheram entre a Big Apple e a Disney. Mas, por estar perto do Natal, Nova York havia vencido.
Ontem, a caminho da loja de brinquedos FAO Schwarz, seu marido sofrera um leve infarto. Ela viera visitá-lo nessa manhã e ali estava, naquele andar, quando ouvira a policial gritando “Pare” ou algo do gênero.
— Eu não sabia que havia alguém lá. Ele se aproximou silenciosamente.
Eu me virei e, meu Deus, lá estava aquele homem. Você acha que ele iria, detetive? Quero dizer, que ele iria me atacar?
— Não sabemos, senhora Stanton. O perfil dele se encaixa na descrição do suspeito em um ataque anterior...
— E você não alertou as pessoas sobre ele? — interrompeu o marido.
— Matthew, por favor. Olhe sob outra perspectiva. A polícia me salvou, e você sabe disso.
O homem se calou, mas parecia ter ficado ainda mais furioso. Sellitto torcia para que ele não sofresse outro problema coronário.
— Como foi esse ataque anterior? — perguntou Harriet, hesitante. Seu tom de voz não deixou dúvidas sobre a que ela realmente se referia.
— Não foi abuso sexual. Foi homicídio.
Ela ficou ofegante, e, sob a maquiagem pesada, seu rosto pareceu empalidecer.
— Um... Como um... serial killer? — O que ainda restava do lenço agora se desintegrou.
— Como já disse, não sabemos. Você poderia descrevê-lo?
— Vou tentar. Eu o vi só por alguns segundos antes que ele baixasse a máscara, me agarrasse e me virasse de costas.
Sellitto tinha décadas de experiência em interrogar testemunhas, e sabia que mesmo as mais bem-intencionadas se lembravam de pouco ou, acidentalmente, substituíam observações precisas por impressões equivocadas. Ainda assim, Harriet foi bastante específica. Ela descreveu um homem branco por volta dos 30 anos vestindo uma jaqueta escura, provavelmente de couro, luvas, um gorro de lã preto ou azul-marinho, calças escuras ou jeans. Ele era esguio, mas tinha um rosto arredondado — sua aparência lembrava a de um russo.
— Meu marido e eu estivemos em São Petersburgo há alguns anos e notamos que essa é a aparência típica dos jovens de lá. Cabeças redondas, rostos redondos.
— Tem criminosos lá também, mas só batedores de carteira — apontou Matthew em tom sarcástico. — Eles não te atacam em hospitais.
— Padrões mais altos — retrucou Sellitto. Então: — E a aparência do sujeito: talvez eslavo de modo geral? Do Leste Europeu?
— Não sei. Acho que sim. Só estivemos na Rússia. Ah, e os olhos dele eram azul-claros. Bem claros.
— Cicatrizes?
— Não vi nenhuma. Acho que ele tinha uma tatuagem. Em um dos braços. Vermelha. Mas não deu para ver muito bem. Ele estava com um casaco.
— Cabelos?
O olhar de Harriet se voltou para o chão.
— Ele puxou aquele gorro bem rápido. Eu não saberia dizer ao certo.
— Ele disse alguma coisa a você?
— Só sussurrou para que eu parasse de me debater, senão ele ia me machucar. Não consegui identificar nenhum sotaque.
E isso foi tudo.
Idade, compleição, cor dos olhos e uma cabeça arredondada. Russo ou eslavo. Roupas.
Sellitto passou uma mensagem no rádio para Bo Haumann, chefe do Serviço de Emergência da polícia de Nova York e oficial no comando da perseguição. Passou a descrição e as últimas informações.
— Entendido, Lon. Interditamos o edifício dos consultórios médicos.
Não acho que ele tenha saído de lá, mas coloquei algumas equipes para fazer uma varredura das ruas por perto. Câmbio.
— Depois falo com você, Bo. — Sellitto não se deu ao trabalho de usar códigos de rádio. Nunca se dava. Não eram privilégios por conta de sua posição na hierarquia, mas de seu tempo de casa.
Voltou-se para Harriet Stanton e o marido, que continuava enfezado.
Ataque cardíaco? Ele parecia estar em boa forma. E seu rosto era bronzeado, característica de quem passa muito tempo ao ar livre, portanto devia fazer um bocado de exercícios físicos. Talvez ficar de mal com a vida fosse um fator de risco para doenças coronárias. Sellitto sentiu pena de Harriet, que parecia ser uma senhora bacana.
Como não parecia haver ligação alguma entre o suspeito e a primeira vítima, provavelmente o mesmo se aplicava agora; ele estava caçando aleatoriamente. Ainda assim, Sellitto perguntou se ela já o vira antes, ou se tivera qualquer sensação de estar sendo seguida antes da visita ao hospital.
Ou se ela e o marido eram ricos ou estavam envolvidos em algo que pudesse torná-los alvos de criminosos.
A última pergunta pareceu agradar Harriet. Não, explicou ela, eram apenas turistas de classe média — cujas férias em Nova York haviam sido arruinadas.
Sellitto pegou o número do telefone dela, o nome do hotel onde estavam hospedados e desejou ao marido uma recuperação rápida.
Harriet agradeceu. Matthew fez que sim com a cabeça rispidamente, pegou o controle remoto da TV e aumentou o volume no History Channel.
Então a quase vítima desapareceu dos pensamentos de Sellitto assim que seu rádio começou a chiar.
— Todas as unidades, relato de um ataque no sexto andar do prédio dos consultórios médicos, onde a operação de busca pelo suspeito está em andamento. Perto do Centro Médico de Upper Manhattan. Houve liberação de arma química, substância desconhecida. Apenas equipes com máscaras de proteção devem permanecer no prédio.
Os pensamentos de Sellitto escaparam pela boca.
— Filho da puta.
Arfando, ele correu pelo corredor, saiu do hospital e continuou pela área circular em frente ao estacionamento. Olhou para cima na direção do prédio de consultórios à sua esquerda. Avançou naquela direção e tirou o rádio do cinto. Fez uma chamada.
— Bo? — Estava sem ar. — Bo? — repetiu.
— É você, Lon? Câmbio.
— Sim, sim, sim. Acabei de ouvir. O ataque. O que aconteceu?
— Estou recebendo relatos de segunda mão — respondeu o ex-sargento de operações. — Parece que o suspeito tentou roubar uns uniformes em um consultório no sexto andar. Um atendente do hospital o identificou e então ele fugiu. Mas não antes de abrir um frasco e derramar algo no chão.
— Talvez formaldeído, como fez com Amelia.
— Não, ele disse que a coisa estava feia. Gente vomitando, desmaiando.
Fumaça por todo lado. Com certeza tóxico.
Sellitto refletiu sobre isso. Então perguntou: — Você sabe em qual consultório ele derramou o veneno?
— Posso descobrir. Estou no primeiro andar, perto das placas de referência. Vou averiguar. — Pouco depois ele voltou a falar. — Só tem um médico no sexto. Dono do andar inteiro.
— É um cirurgião plástico? — perguntou Sellitto.
— Espera. É isso mesmo. Como você sabia?
— Porque nosso suspeito envolveu o rosto com gaze e está saindo agora mesmo pela escada de incêndio, junto de todos os outros pacientes que vocês estão evacuando.
Uma pausa.
— Merda! — exclamou Haumann. — Ok, vamos levar todos para o lobby, pedir a identificação. Ninguém que estiver com um Band-Aid sai pela porta da frente. Boa, Lon. Com sorte, a gente pega o cara em dez minutos.
Rhyme ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, com sua cadeira de rodas diante do monitor de alta resolução. Cerca de quarenta minutos se passaram desde a notícia sobre o criminoso ter soltado o gás venenoso nas salas do sexto andar do edifício de consultórios médicos.
Na tela havia uma imagem da fachada do edifício e, atrás dela, o hospital propriamente dito.
Cortesia de uma câmera da Unidade de Serviço de Emergência.
A campainha tocou, e Thom foi atender. A porta fez um clique, o vento uivou.
Então um som familiar de passos pesados, pelos quais Rhyme pôde confirmar que Lon Sellitto havia chegado.
Ah...
O detetive veio pelo canto da sala. Parou. Tinha uma expressão severa.
— Então — começou Rhyme, sua voz repleta de humor. — Só estou curioso...
— Ok, Linc — disse Sellitto, retirando o Burberry molhado. — Foi...
— Curioso, como eu dizia. Ninguém suspeitou disso? Nem uma única pessoa? Não passou pela cabeça de ninguém na face da Terra que não havia sido um atendente quem tinha ligado falando do gás venenoso? Que foi o próprio suspeito que fez a chamada dando um relato falso. Para que todo mundo começasse a investigar pacientes com o rosto enfaixado.
— Linc...
— E que ninguém reparasse em pessoas usando um protetor facial, igual aos que tatuadores usam, e um macacão, saindo casualmente pela entrada principal como um bombeiro.
— Só agora eu sei disso, Linc.
— Então, acho que, naquele momento, ninguém pensou nisso. Só agora que...
— Já entendi, merda.
— ... conseguimos entender...
— Às vezes você é um tremendo pé no saco, Linc. Você sabe disso.
Rhyme sabia disso e não se importava.
— E a caçada nos arredores de Marble Hill?
— Pontos de inspeção nas principais ruas, policiais em todos os pontos de ônibus e estações de metrô da área.
— Procurando por...? — perguntou Rhyme.
— Qualquer homem branco por volta de 30 anos vivo.
O computador de Rhyme emitiu um barulho, e ele abriu o e-mail com um comando de voz. Era Jean Eagleston novamente, a perita forense. Fora ela quem tinha criado o suposto retrato do suspeito, baseado nas observações de Harriet Stanton. O desenho apresentava um jovem sério de feições eslavas, testa proeminente e sobrancelhas unidas. Os olhos claros do suspeito lhe atribuíam um semblante assustador.
Rhyme não achava que o bem e o mal pudessem ser objetivamente refletidos na aparência de alguém. Mas sua intuição lhe dizia que esse era o rosto de uma pessoa verdadeiramente perigosa.
Um segundo monitor de alta resolução ali perto deu sinal de vida.
Amelia apareceu nele, olhando em sua direção.
— Está aí, Rhyme?
— Sim, sim, Sachs. Vá em frente.
Era o computador que eles usavam para videoconferências com oficiais da lei de outras cidades, para ocasionais interrogatórios de suspeitos e para conversar pelo Skype com os filhos do parente mais próximo de Rhyme — seu primo que morava em Nova Jersey. Bem, Sachs era quem mais o fazia, lendo histórias para eles e contando piadas. Sachs e Pam também usavam o Skype, às vezes por horas a fio, batendo papo.
Sachs imaginava se agora, depois da briga entre elas, aquilo continuaria a acontecer.
— Qual é a história? É verdade, a fuga? — perguntou ela.
Rhyme franziu o cenho e olhou para Sellitto, que por sua vez revirou os olhos e disse:
— Ele sumiu, sim. Mas conseguimos uma boa descrição com a refém.
— Qual o prognóstico, Sachs? Do guarda.
— Os olhos vão precisar de algum tratamento, mas é só isso. Ele foi atingido por formaldeído e por uma genitália masculina decepada. Era isso que estava dentro do jarro. O que não deixou o segurança muito contente.
— Ela deu uma leve risada. — Estava escuro, vi a parte de um corpo no chão. Achei que o suspeito tinha usado ácido e que isso estava derretendo a pele do guarda. Mas ele vai ficar bem. Então, Lon, como está indo a caçada?
— Temos homens à paisana em todos os pontos de ônibus e estações de metrô em Marble Hill e ao norte e ao sul, o Metrô 1 — explicou o detetive.
— Ele poderia pegar um táxi, mas acho que não vai querer ficar frente a frente com algum taxista. De acordo com nosso especialista em tatuagem, ele não é daqui, então não conhece nada sobre os táxis clandestinos.
Estamos apostando nossas fichas que ele vai preferir usar transporte público.
Rhyme notou Sachs balançando a cabeça, então a transmissão começou a tremer e congelar. A internet instável.
A imagem ficou nítida novamente.
— Ele pode tentar pegar um trem mais ao leste — sugeriu ela.
— É, acho que sim.
— Bom ponto — elogiou Rhyme. E falou para Sellitto: — Leve alguns dos seus homens até o Metrô 4 e as linhas D e B. Lá é o centro do Bronx. Ele não vai mais a leste que aquilo.
— Hum. Vou fazer isso. — O detetive se afastou para ligar.
— Uma coisa me veio à mente, Rhyme — disse Sachs.
— O quê?
— Havia dezenas de salas de depósitos nas quais ele poderia ter se escondido. Por que escolheu logo aquela?
— Seu palpite?
— Ele já havia passado algum tempo lá. Acho que era para lá que ele levaria Harriet Stanton e a tatuaria.
— Por quê?
— Aquilo era como um museu da pele. — Ela descreveu as amostras de tecido humano dentro dos jarros.
— Pele. Claro. Sua obsessão.
— Exatamente. Órgãos internos, cérebros. Mas pelo menos metade dos recipientes continha tecidos epiteliais.
— Você está trabalhando com algum tipo de psicologia fúnebre aqui, Sachs? Não acho que isso seja útil. Já sabemos que ele tem interesse por pele.
— Estou apenas calculando que ele já havia passado algum tempo ali, além do necessário para estudá-lo como um possível local para cometer o assassinato. Como um turista no MoMA, sabe? Aquele lugar o atraía. Por isso, vasculhei a cena três vezes.
— Isso sim é um uso válido para essa baboseira da psicologia — comentou Rhyme.
De cabeça baixa, Billy andava rápido em direção ao metrô no Bronx que o levaria até a região sul de Manhattan, até sua oficina, seus terrários, rumo à segurança e ao conforto.
Lembrou-se de quando estava no corredor do hospital, visualizando Amelia Sachs... Era inevitável pensar nela com certa familiaridade, visto que tinha estudado tudo o que podia sobre aquela mulher — e sobre Lincoln Rhyme.
Como ela o encontrara? Bem, essa não era bem a questão. Como Rhyme o havia achado? Ela era boa, claro. Mas Rhyme era melhor.
Ok, como? Como exatamente?
Bem, Billy já havia estado no hospital antes. Talvez ele próprio tivesse carregado consigo algum vestígio do local e, apesar de sua diligência, tivesse deixado, sem querer, cair um pouco desse resíduo perto do corpo de Chloe Moore.
Será que os policiais achavam que conseguiriam evitar outro ataque se colocassem Amelia Sachs em seu encalço?
Não, Billy chegou à conclusão de que não, eles não poderiam prever que ele voltaria até lá naquele dia. A policial havia aparecido no hospital apenas para perguntar se algum dos funcionários avistara um homem que batesse com sua descrição.
Seus pensamentos divagaram para Amelia Sachs... Ela o lembrava, em alguns aspectos, da Garota Adorável, de seu lindo rosto, do cabelo e de seu olhar vivo e determinado. Algumas mulheres, disso ele sabia, tinham de ser controladas usando a razão, outras, através da dominação. Havia aquelas que não podiam ser controladas, e isso era um problema.
Pensando em sua pele pálida.
A Sala do Oleandro...
Ele imaginou Amelia lá, deitada no sofá, na poltrona, no assento do amor, na espreguiçadeira.
A respiração se acelerou, ele imaginou o sangue na pele dela, ele sentiu o gosto do sangue na pele dela. Ele sentiu o cheiro do sangue.
Mas agora esqueça isso.
Outra palavra veio à mente: antecipar.
Se Rhyme havia descoberto sobre o hospital, talvez também soubesse que Billy seguira nessa direção para escapar. Assim, acelerou o passo. A rua era movimentada. Lojas de produtos baratos, lanchonetes e estabelecimentos de operadoras de celular. A clientela, classe média. Linhas de crédito. As melhoras taxas da cidade.
E gente por todo canto: pais com filhos pequenos, agasalhados feito bonecos de meia por causa do frio cortante e da neve interminável.
Adolescentes ignorando, ou realmente não sentindo, o frio. Jaquetas leves, jeans, saias curtas e cachecóis de pele falsa sobre jaquetas de cores espalhafatosas. Salto alto, sem meia-calça. Em movimento constante. Billy se esquivou de um skatista pouco antes da colisão.
Ele quis pegar o garoto pelo colarinho, tirá-lo do skate. Mas o rapaz passou muito rápido. Além do mais, Billy não queria criar confusão. Uma péssima ideia nas atuais circunstâncias.
De volta à sua fuga pelo leste da cidade. Ele notou que ali também havia muita arte na pele — o termo preferido de Billy para tatuagem. Ali, numa região de classe baixa, miscigenada, muitas tatuagens eram de frases.
Principalmente em letra cursiva. Trechos da Bíblia, talvez, ou poemas ou manifestos. Martin Luther King Jr. estava representado, especulou Billy.
Mas as citações poderiam ser do Shaq ou do Corão. Alguns escritos eram proeminentes — fonte tamanho 72. A maioria, no entanto, era tão pequena que seria necessária uma lupa para ler.
Cruzes de todos os tipos — tatuadas em homens que pareciam membros de gangues e traficantes de drogas e em garotas com cara de puta.
Um jovem com cerca de 20 anos se aproximou vindo da direção oposta, de pele bem escura, de ombros largos, um pouco mais baixo que Billy, que observou os queloides em suas bochechas e têmporas — um desenho intrincado de linhas entrecruzadas.
Ele notou o olhar de Billy e desacelerou; então parou e acenou com a cabeça.
— Ei. — Ficou ali parado, sorrindo. Talvez pensasse que Billy estava apreciando a escarificação. O que de fato estava.
Billy também parou.
— Você tem umas marcas do cacete.
— Opa. Valeu.
Na África subsaariana, a tradição era esse tipo de modificação ser feito através da abertura de retalhos na pele e da injeção subcutânea de sumos vegetais irritantes para que as cicatrizes ficassem mais salientes, endurecendo e formando desenhos permanentes. Queloides servem para vários propósitos: eles identificam seus portadores como membros de uma família ou de uma tribo específica, indicam posições sociais e políticas estáveis, marcam eventos no decorrer da vida, tal como a puberdade ou a aptidão ao casamento. Em algumas culturas africanas, a escarificação indica apetite e proeza sexual — e as cicatrizes, por sua vez, podem virar zonas erógenas. Quanto maior o número de cicatrizes em uma mulher, mais atraente ela será como parceira, pois isso a faz melhor que as outras para futuramente aguentar a dor do parto e, assim, produzir uma prole vasta.
Billy sempre apreciara queloides; nunca havia feito um. Aqueles no rosto do jovem eram impressionantes, elos de correntes e videiras. A arte na pele dos africanos é em sua maioria geométrica; raramente são retratados animais, plantas ou pessoas. Palavras, nunca. Billy estava quase tomado por uma necessidade de tocar aquele desenho. Resistiu a muito custo.
O jovem, por sua vez, lançou um olhar estranho, que continha tanto curiosidade quanto camaradagem, para Billy. Por fim, olhou ao redor e pareceu tomar uma decisão. Um sussurro: — Ei, você quer heroína? Ecstasy? Cocaína? Que que cê quer?
— Eu...
— Quanto você tem pra gastar? Eu te arranjo.
Drogas.
Detestável.
Em um instante, a admiração pela escarificação virou ódio. A sensação era de que o jovem o havia traído. A arte na pele estava arruinada. Billy quis enfiar uma agulha no pescoço dele, levá-lo a um beco e tatuar uma mensagem em suas tripas com ageratina ou cicuta.
Mas então Billy percebeu que aquilo não passava de um incidente que validava a Lei da Pele. Nenhuma surpresa. Ficar incomodado com aquilo era tão inútil quanto se incomodar com uma lei da física.
Deu um sorriso de desapontamento, contornou o homem e continuou andando.
— Ei, cara! Eu te arranjo!
Um quarteirão a leste, Billy olhou para trás — não viu ninguém que representasse ameaça — e entrou numa loja de roupas. Pagou em dinheiro por um boné dos Yankees e por um par de tênis barato. Meteu o boné na cabeça e trocou os sapatos. Não jogou fora os velhos — preocupado que a polícia pudesse vasculhar o lixo e achar um par de sapatos Bass com suas digitais neles —, mas, quando o atendente não estava olhando, deixou um numa prateleira de sapatos em liquidação e o outro atrás de uma fileira de calçados similares. Então saiu da loja, andando rápido rumo ao seu objetivo: o metrô que o levaria de volta à Canal Street, de volta à segurança.
Cabeça baixa, mais uma vez, examinando as calçadas congestionadas, imundas, repletas de mijo de cachorro e chicletes, e delimitadas por neve pisada e derretida.
E ninguém notou o macacão, a bolsa de equipamentos, ninguém olhou em sua direção como se pensassem: seria ele o homem que matou aquela garota no SoHo? O homem que estava quase rendido e encurralado lá no hospital em Marble Hill?
Andando rápido mais uma vez, respirando um ar cheio de fumaça de escapamento nociva. Claro que ele não pegaria o Metrô 1, que fazia uma parada em Marble Hill, por ser tão perto do hospital. Ele havia passado dias estudando o sistema de tráfego de Nova York. Seguia para uma estação mais a leste, mesmo que isso significasse uma caminhada rápida sob um clima desagradável entre pessoas ainda mais desagradáveis.
Ei, cara! Eu te arranjo!
E havia muitas delas. A multidão se concentrava ainda mais, mais compradores — aproveitando a temporada anterior ao Natal para estocar presentes, ele acreditava. Vestidos com roupas escuras, surradas e gastas.
Os homens-porcos, homens-cachorros do doutor Moreau...
Algumas viaturas passaram em alta velocidade, indo em direção a Marble Hill. Nenhuma delas parou.
Respirando com dificuldade, com o peito doendo novamente, ele por fim se aproximava da entrada do metrô. Os trens não ficavam no subterrâneo, mas sim elevados. Billy passou seu cartão de metrô na roleta e andou tranquilamente até a escadaria íngreme e daí até a plataforma, onde se misturou aos demais enquanto o vento úmido soprava cortante.
Baixou a aba do boné, trocou os óculos de leitura por outros com armação diferente, então envolveu seu cachecol cinza no pescoço, cobrindo a boca; o ar estava gélido o suficiente para aquilo não parecer suspeito.
Procurou a polícia. Nenhuma luz piscando nas ruas abaixo, nenhum policial uniformizado na multidão ou nas plataformas. Talvez...
Espere.
Ele notou dois homens usando sobretudo a uns dez metros, na plataforma. Um olhou em sua direção e em seguida se voltou para o acompanhante. Eles ficaram parados, apenas homens brancos com roupas conservadoras, camisas brancas e gravatas, sob casacos pesados; a maioria dos passageiros na plataforma era negra ou latina ou miscigenada e se vestia de maneira muito mais casual.
Policiais à paisana? Seu palpite era de que sim, eles eram. Poderiam até não fazer parte da caçada atual — estavam ali investigando venda de drogas, talvez —, mas ouviram o alerta e agora acreditavam ter pegado o Homem do Subterrâneo.
Um deles fez uma ligação rápida, e Billy sentiu que havia sido para Lincoln Rhyme. Não havia embasamento nenhum para tal conclusão, mas seus instintos lhe disseram que o policial ali era amigo e colega de trabalho de Rhyme.
Um trem se aproximava, mas ainda estava a uns duzentos metros de distância. Os homens sussurraram alguma coisa entre si e então caminharam na direção dele, estabilizando-se contra o vento.
Billy havia sido tão cauteloso, tão esperto na fuga dos consultórios.
Estava prestes a ser pego por causa de uma coincidência? Dois policiais que passavam ali por acaso.
Billy não estava nem perto de uma saída. Se corresse, jamais daria tempo. Será que daria para pular?
Não, seis metros de queda até uma rua movimentada abaixo. Ele quebraria alguns ossos.
Billy decidiu que iria blefar. Tinha uma identificação de funcionário público que passaria como verdadeira numa inspeção rápida, mas bastaria uma ligação para a central e descobririam que era uma falsificação. Ele também tinha uma carteira de identidade legítima, que era, tecnicamente, uma violação dos Mandamentos.
Permanecerás inidentificável.
Mas, é claro, isso não daria certo. Um rádio ou uma ligação e eles descobririam quem ele era de fato.
Teria de partir para a ofensiva. Fingiria ignorá-los até que ambos estivessem perto, então viraria, sorrindo. Aí jogaria um, ou os dois, nos trilhos. Poderia escapar no caos subsequente.
Um plano confuso. Desajeitado e perigoso. Mas ele se decidiu, não havia muita opção.
Os homens continuavam se aproximando, sorrindo, mas Billy não confiava naquela expressão nem por um segundo.
O trem estava perto. Trinta metros, vinte, dez..
Ele olhou para a cintura dos homens, onde as armas deveriam estar, mas eles não haviam desabotoado seus casacos. Lançou um olhar para a saída, calculando o tempo e a distância.
Prepare-se. O grandalhão. Empurre-o primeiro. O amigo de Lincoln Rhyme.
O trem estava quase na plataforma.
O homem mais alto, o que estava prestes a morrer primeiro, acenou ao cruzar o olhar com o de Billy.
Espere, espere. Mais dez segundos. Oito, sete, seis...
Billy se preparou.
Quatro, três...
O homem sorriu.
— Eric?
— Hum, perdão?
— Você é Eric Wilson?
O trem chegou à estação e freou com um ruído agudo enquanto parava.
— Eu? Não.
— Ah, é que você é a cara do filho de um amigo meu do trabalho.
Desculpe incomodar.
— Sem problema. — As mãos de Billy tremiam, seu queixo também, e só em parte devido ao frio.
Os homens se viraram e foram em direção ao trem, o qual liberava os passageiros na plataforma.
Billy andou até o vagão, escolhendo um lugar que fosse perto o suficiente dos homens para poder escutar sua conversa. Sim, eles eram exatamente o que pareciam ser — homens de negócio que acabaram de sair de uma reunião no centro da cidade e agora voltavam para seus escritórios na Madison Avenue, para escrever algum relatório sobre como tudo havia decorrido.
Freios soltos. Com um tranco o trem começou a seguir para o sul, balançando, rangendo nas mudanças de trilho.
Logo estariam em Manhattan, e mergulhando no subsolo. O Homem do Subterrâneo estava em seu mundo outra vez.
Fora um risco pegar o metrô, mas pelo menos ele minimizara o perigo.
E, aparentemente, vencera. Em vez de pegar o Metrô 1 ou o 4 — o próximo a leste — ou mesmo o B e o D, ele havia caminhado muitos quilômetros até a estação na Allerton Avenue, para pegar o Metrô 2. Tinha imaginado que alguém — bem, Lincoln Rhyme, claro — poderia ter mandado policiais até as estações mais próximas. Mas mesmo o Departamento de Polícia de Nova York não possuía recursos para patrulhar todo canto. Billy esperava que seu ritmo acelerado o mantivesse longe do alcance daqueles em seu encalço.
E parece que era o que estava acontecendo.
Enquanto seguiam rápido rumo ao sul, Billy refletia: você não é o único que consegue se antecipar aos fatos, capitão Rhyme.
O senhor Cinco-Onze sabe o que está fazendo, refletiu Lincoln Rhyme mais uma vez, enquanto conduzia sua Merits até a mesa de análise de evidências onde Mel Cooper e Sachs examinavam o que foi encontrado no hospital.
Apesar da busca exaustiva pelos corredores, pelos consultórios médicos e pelo “museu da pele”, as descobertas de evidências no ataque frustrado a Harriet Stanton foram mínimas.
Não havia impressões digitais; ele tinha sido esperto o suficiente para não tocar a pele de Harriet com os dedos (impressões digitais também podem ser deixadas na pele). Ou ele a havia agarrado pela roupa ou tocado sua pele com o pano de suas próprias mangas. E, em algum ponto entre a fuga do local do ataque no porão e sua invasão à sala de espécimes, ele colocara luvas de látex (não de vinil, que apresentam padrões distintos de ranhuras que podem ser rastreadas).
Mas, diferente da cena anterior, ele fora surpreendido, portanto não havia tido a chance de vestir sapatilhas descartáveis. Sachs conseguiu algumas boas marcas eletroestáticas de pegadas.
Sapatos Bass tamanho 43, apesar de isso apenas indicar que ele estava usando um sapato assim, não que de fato calçasse essa numeração.
O padrão das marcas deixadas no piso, as quais às vezes evidenciam detalhes sobre peso e postura, não revelaram muito, mas quem se importava?, pensou Rhyme. Eles já conheciam seu peso e sua postura.
Sachs passou o rolo adesivo no chão perto das pegadas em busca de resíduos, só para ter certeza. Mas Mel Cooper relatou que a análise revelou: “Muito mármore Inwood, mais daquele detergente e materiais médicos que nos levaram a investigar o hospital da primeira vez. Um pouco de desinfetante de novo. Nada mais.”
Ela encontrara alguns vestígios únicos na sala de espécimes, identificados pelo cromatógrafo/espectrômetro como dimeticona, que era usada em cosméticos, lubrificantes industriais e alimentos processados para evitar empedramento. Curiosamente, também é o principal ingrediente de massinha de modelar. Rhyme não descartou este fato logo de cara, mas, depois de alguma ponderação, decidiu que o brinquedo não se encaixava no plano do suspeito.
— Acho que ele pegou um pouco de dimeticona quando agarrou a senhora Stanton.
Sachs explicou que, sendo ela uma mulher de 50 anos, estaria usando uma boa quantidade de maquiagem. Pegou o celular e ligou para o número que Harriet havia passado. Ela atendeu e, após Sachs atualizá-la sobre o caso, anotou o nome das marcas favoritas de produtos cosméticos da mulher. Ao verificar o site do fabricante, Sachs confirmou que a dimeticona era, de fato, um dos ingredientes da fórmula.
Beco sem saída aí.
E nenhum outro resíduo ou fibras.
Enquanto escrevia os detalhes na lista do quadro-branco, Sachs disse: — Mais uma coisa. Vi que ele tinha uma tatuagem no... — Ela franziu o cenho. — Sim, no braço esquerdo. Um animal ou alguma outra criatura.
Talvez um dragão. Como naquele thriller. Os homens que não amavam as mulheres. Em vermelho.
— Certo — disse Sellitto enquanto olhava para seu bloco de anotações.
— Harriet Stanton disse que ele tinha uma dessas. Mas ela não viu o que era.
— Algum rastro do veneno que ele pretendia usar na vítima? — perguntou Pulaski para Cooper.
— Nada. Nenhuma toxina presente em nada que Amelia coletou.
— Acho que podemos deduzir que ele mantém consigo suas poções do amor até estar pronto para começar a usá-las.
Rhyme ponderava novamente: por que esse modus operandi? Veneno é uma arma rara atualmente. Matar alguém com toxinas, popular por muito tempo, começou a cair em desuso há muito tempo, na metade do século XVIII, depois de o famoso químico inglês James Marsh inventar um teste que conseguia detectar arsênico em tecidos mortos. Testes para identificar outras toxinas surgiram pouco depois. Maridos homicidas e herdeiros gananciosos, que acreditavam que os médicos apontariam a causa da morte como problemas cardíacos, derrames ou doenças, passaram a terminar seus dias na cadeia ou na forca, após os primeiros detetives forenses apresentarem seus casos na corte.
Algumas substâncias, como o etilenoglicol — um arrefecedor automotivo —, ainda eram ministradas a maridos pelas mãos de esposas infelizes, e o Departamento de Segurança Interna tratava todo tipo de toxina como armas terroristas, indo da mamona que era transformada em ricina até o cianeto e a toxina botulínica — que era a substância mais mortal existente (uma forma bem suave era usada em injeções de Botox cosmético); alguns poucos quilos de toxina botulínica poderiam matar todas as pessoas do mundo.
Ainda assim, venenos eram complicados, detectáveis e difíceis de serem administrados nas vítimas, isso sem mencionar que eram potencialmente letais aos envenenadores. Por que você os ama tanto?, perguntou Rhyme silenciosamente ao suspeito.
Mel Cooper interrompeu seus devaneios.
— Foi por pouco no hospital. Você acha que ele vai fugir de vez?
Rhyme bufou.
— Isso quer dizer “não”?
Sachs interpretou.
— Quer dizer “não”.
— A única pergunta é esta: onde ele vai atacar da próxima vez? — disse Rhyme. Girou a cadeira até o quadro. — A resposta está ali. Talvez.
Centro Médico de Upper Manhattan
Vítima: Harriet Stanton, 53 anos - Turista
– Não foi ferida
Suspeito 5-11
– Ver detalhes da cena do crime anterior – Tatuagem vermelha no braço esquerdo – Aparência russa ou eslava – Olhos azul-claros – Sem sotaque – Sapato Bass tamanho 43 – Nenhuma impressão digital – Ficou um tempo na sala de espécimes do hospital (“museu da pele”)
Vestígios
– Nenhuma toxina encontrada – Dimeticona
Mas provavelmente da maquiagem que Harriet Stanton usava
O Provence² estava lotado.
Assim que o New York Times aumentou o número de estrelas em sua avaliação, aquele restaurante desconhecido em Hell’s Kitchen foi inundado de pessoas desesperadas para se espremer entre as saletas barulhentas e frenéticas e experimentar pratos que apresentavam uma fusão de dois tipos de culinária sulista, a americana e a francesa.
Frango frito com alcaparras e ratatouille.
Les escargots avec canjica de milho.
Inusitado, mas o prato é bom...
Espremido entre um armazém ao sul e um prédio comercial chique de aço e vidro ao norte, o restaurante ficava localizado numa daquelas típicas estruturas do lado oeste do centro de Manhattan: centenário, com cômodos em formatos irregulares cujo piso estalava e rangia sob os pés e com tetos de latão martelado. Passagens baixas ligavam uma sala de jantar lotada à outra, e as paredes eram de tijolos vermelhos, o que não reduzia o barulho.
A iluminação era fraca, cortesia de bulbos amarelos no que pareciam luminárias tão velhas quanto a própria estrutura (apesar de não virem da oficina de um ferreiro da era vitoriana no Hudson, mas de uma fábrica nos arredores de Seul).
Em uma mesa nos fundos, a conversa ricocheteava feito um disco de hóquei.
— Ele não tem a menor chance. É ridículo.
— Você ouviu falar da namorada dele?
— Ela não é namorada dele.
— Ela é a namorada dele, estava no Facebook.
— De qualquer forma, eu nem acho que ela seja uma garota.
— Ah. Que beleza.
— Quando a imprensa descobrir, ele está ferrado. Vamos pedir outra garrafa. Um Chablis.
Samantha Levine ouvia os gracejos dos amigos, mas não prestava atenção. Primeiro porque não se interessava muito pela política local. O candidato de quem eles falavam provavelmente não ganharia as próximas eleições. Não devido a namoradas que poderiam ou não passar em um teste de avaliação física, mas porque ele era banal e frívolo. Era preciso de algo mais para ser prefeito da cidade de Nova York.
Era preciso daquele je ne sais quoi, gente.
Fora isso, os pensamentos de Samantha insistiam em se voltar para o trabalho. Complicações enormes ultimamente. Ela havia trabalhado até tarde — até quase oito da noite, meia hora atrás —, então correu para cá, vindo do escritório no chamativo prédio ao lado, para se encontrar com os amigos. Tentou afastar as preocupações que havia trazido consigo, mas nesse mundo tecnológico não era possível escapar dos quebra-cabeças e dos problemas que encaramos todos os dias. Claro, havia vantagens: os funcionários podiam vestir — como ela fazia agora — jeans e casacos de malha (blusinhas no verão), ganhavam um salário anual de seis dígitos, podiam ter tatuagens e se cobrir de adereços, trabalhavam em horários flexíveis, e era permitido trazer um sofá confortável para o escritório e usá-lo como mesa de trabalho.
No entanto era necessário produzir.
E estar um passo à frente da competição.
E, porra, havia muita competição por aí.
A internet com I maiúsculo. Que lugar! Tanto dinheiro, tantas oportunidades para atingir o sucesso. E para cometer intermináveis erros.
A mulher de 32 anos, com um corpo voluptuoso, cabelos rebeldes castanhos e roxos e olhos grandes, escuros e brilhantes como os de um personagem de anime bebia mais um pouco de vinho branco, tentando desviar o foco de uma reunião sobre um assunto particularmente complicado que tivera com o chefe havia pouco tempo, uma reunião que vinha pairando em seus pensamentos desde então.
Deixa. Isso. De. Lado.
Por fim conseguiu. Espetando e comendo uma fatia de tomate verde frito com anchovas moídas, ela voltou sua atenção aos amigos. Todos eles sorriam (exceto a Garota SMS), enquanto Raoul — com quem dividia o apartamento, sim, apenas dividia o apartamento — contava uma história sobre ela. Ele era assistente de um fotógrafo que trabalhava para umas revistas metidas a Vogue, todas on-line. O magro e barbudo chefe havia passado para pegar Raoul no apartamento que dividiam em Chelsea e vira Samantha, que vestia uma camiseta e a calça de um pijama, estava com o cabelo preso com elásticos coloridos e usava óculos muito, muito sérios.
— Hummm. Posso fotografar você?
— Ah, você é aquele cara que conseguiu o contrato para o calendário das Garotas Geek? — rebatera Samantha.
Raoul dava um pouco mais de vigor à sua performance/história e a mesa toda gargalhava.
Aquele era um bom grupo. Os melhores amigos Raoul e James, Louise, do escritório de Samantha, e Uma Outra Mulher Qualquer, que chegara abraçada a James. O nome dela era Katrina, Katharine ou Karina? A loira da semana de Jamie. Samantha a apelidara de Garota SMS.
Os homens da mesa continuaram a discutir sobre política, como se tivessem dinheiro aplicado nos resultados da eleição, Louise tentava debater algo sério com Samantha e a mulher do nome com K enviava mais algumas mensagens no celular.
— Já volto — avisou Samantha.
Levantou-se e olhou para o piso antigo, que estava — após três taças de vinho antiestresse — não tão regular quanto antes, quando ela havia chegado. Vai com calma, garota. Pode-se beber até cair nos Hamptons, pode-se beber até cair em Cape May. Simplesmente não se bebe até cair em Manhattan.
Dois flertes no pequeno bar. Ela os ignorou, apesar de ter sido menos enfática em um dos casos que no outro. Era o cara sentado sozinho em um canto do bar. Um cara esguio, pálido — pele da cor de quem só sai à noite.
Pintor, escultor ou algum outro tipo de artista, calculou ela. Bonito, apesar de o queixo dele parecer delicado quando olhava para baixo. Olhos penetrantes. Ofereciam um daqueles olhares. Samantha os chamava de “pidões”, iguais aos de cachorros que avidamente pedem comida.
Ela sentiu um arrepio, porque o olhar durou um pouco mais que o normal e se tornou assustador.
Ele a estava despindo mentalmente, analisando seu corpo.
Samantha se arrependeu de ter cruzado olhares com ele. E seguiu rapidamente pela rota mais complicada no restaurante: a estreita escadaria descendo até os banheiros no porão.
Claque. Claque.
Conseguiu.
Escuro e silencioso aqui embaixo, limpo, o que a surpreendera na primeira vez que havia descido até o lugar. As pessoas que reformaram o ambiente passaram muito tempo construindo as saletas de jantar num estilo grosseiro e rústico (sim, a gente entendeu: a França e os Estados Unidos caipiras), mas os banheiros pareciam coisa do SoHo. Ardósia, iluminação embutida e grama ornamental como decoração. Fotografias de Mapplethorpe nas paredes, mas nada muito esquisito. Sem chicotes nem bundas.
Samantha andou até o F e testou a porta.
Trancada. Franziu o cenho. Provence² não era grande, mas nenhuma merda de restaurante no mundo poderia ter só um banheiro feminino. Os donos eram loucos?
Rangidos vindo de cima, passos sobre o chão de madeira solta. Vozes abafadas.
Pensou no homem no bar.
O que eu estava fazendo, olhando para ele assim daquele jeito? Meu Deus. Seja um pouco mais esperta, ok? Por que flertar? Você tem o Elliot lá do trabalho. Ele não é o cara dos seus sonhos, mas é decente, confiável e assiste ao PBS. Da próxima vez que ele te chamar, aceite. Ele tem aqueles olhos doces e pode até ser bem ok na cama.
Vamos, tenho que fazer xixi. Só um maldito banheiro?
Então, num tom diferente de rangido, os passos foram descendo as escadas.
Claque. Claque.
O coração de Samantha disparou. Ela sabia que era o cara do flerte, o perigoso.
Ela viu botas aparecendo nos degraus. Botas masculinas de cano alto.
Direto dos anos 1970. Esquisitas.
Samantha girou a cabeça. Estava no fim do corredor. Não havia aonde ir.
Sem saída. O que eu faço se ele avançar em mim? Os decibéis no restaurante por si só já eram altos; ninguém a ouviria. Deixei meu celular lá em cima, eu...
Então: relaxe. Você não está sozinha. Havia a sirigaita no banheiro. Ela ouviria um grito.
Além disso, ninguém, por mais que estivesse com tesão, arriscaria estuprar alguém no corredor de um restaurante.
Era mais provável que isso se transformasse em um Incidente Embaraçoso. O magrelo vindo com sede ao pote, tentando flertar, ficando bravo, mas no fim recuando. Quantas dezenas de vezes isso já não tinha acontecido? A pior coisa seria o cara a rotular como mulher que dá corda e desiste na hora H.
Que era o que acontecia quando uma mulher encarava um homem.
Regras diferentes. Quando era um homem quem encarava, ah, tudo bem então. É só coisa de homem.
Será que as coisas mudariam um dia?
Mas então: e se ele fosse um psicopata de verdade? Com uma faca. Um assassino violento. Os olhos penetrantes do sujeito sugeriam que talvez ele de fato fosse. E houve um assassinato dia desses — uma garota no SoHo morta no porão.
Exatamente como aqui. Merda, vou segurar...
Então Samantha deu uma risada.
O dono da bota apareceu. Um velho gordo de terno com uma gravata texana. Um turista de Dallas ou Houston. Ele a encarou por um momento, deu uma vaga saudação com a cabeça e entrou no banheiro masculino.
Então ela voltou para a frente da porta com o F.
Vai, querida. Meu Deus. Já retocou direitinho a maquiagem de puta? Ou está vomitando seu quarto Cosmo da noite? Samantha agarrou a maçaneta de novo para lembrar a ocupante sem consideração de que havia uma fila.
A maçaneta girou.
Merda, pensou ela. Estava destrancada o tempo todo. Ela provavelmente tinha girado para o lado errado antes.
Como você pode ser tão estúpida? Ela entrou e acendeu a luz, deixando a porta bater e fechar.
E viu o homem parado atrás dela. Ele usava macacão e gorro. Num instante ele trancou a porta.
Oh, meudeusmeudeusmeudeus...
Seu rosto estava queimado! Não, distorcido, espremido sob uma touca de látex transparente, mas amarelada. E luvas de borracha, da mesma cor, nas mãos. Em seu braço esquerdo, uma parte de uma tatuagem vermelha estava visível entre o fim da luva e o começo da manga. Um inseto, com pinças, pernas espinhosas, mas com olhos humanos.
— Ahhhh, não, não, não...
Ela até que se virou rápido, agarrando-se à porta, mas ele a segurou antes, braços em volta do peito de Samantha. Ela sentiu uma pontada quando levou um soco no pescoço.
Chutou, começou a gritar, mas ele enrolou um pano grosso em sua boca.
Os sons foram abafados.
Então ela notou uma portinha do outro lado do banheiro, sessenta centímetros por um metro ou algo assim, aberta em direção à escuridão — um túnel ou uma passagem até um porão ainda mais profundo, sob o restaurante.
— Por favor! — murmurou, mas as palavras foram engolidas pela mordaça.
Sentiu-se debilitada, cansada. Já quase sem medo. E ela entendeu: o soco no pescoço. Ele devia ter dado uma injeção de alguma substância nela.
Antes de o sono dominá-la por completo, Samantha sentiu que ele a deitava no chão e então a arrastava, cada vez mais perto do acesso escuro.
Ela sentiu um calor, um líquido escorrer entre as pernas — o medo e a perda de controle conforme a substância com a qual ele a drogara surtia efeito.
— Não — suspirou.
E ouviu uma voz em seus ouvidos.
— Sim.
A palavra se prolongou por muito tempo, como se não fosse mais o agressor falando, mas o inseto no braço dele, chiando, chiando, chiando.
A Lei da Pele...
Enquanto trabalhava com sua American Eagle na bela pele da nova vítima, Billy refletia sobre sua fascinação por tal tecido, a própria tela de Deus.
Pele.
Era a tela de Billy também, e ele havia se tornado obcecado por ela, como o Colecionador de Ossos com o sistema esquelético do corpo — o que Billy achara interessante ao ler Cidades em série. Ele apreciava a obsessão do Colecionador de Ossos, mas, francamente, não compreendia a fascinação por ossos. Pele era de muito longe o mais revelador dos aspectos do corpo humano. Muito mais central. Mais importante.
Que tipo de compreensão os ossos davam? Nenhuma. Não como a pele.
Dos órgãos tegumentares, que protegem o corpo, a pele é a mais desenvolvida, bem mais que cascos, unhas, escamas, penas e os assustadores e inteligentes exoesqueletos dos artrópodes. Nos mamíferos, a pele é o maior órgão. Mesmo que órgãos e vasos possam ser mantidos por alguma engenhoca alternativa do Dr. Seuss, a pele oferece muito mais. Ela previne infecções e age como um sistema de alerta antecipado e de proteção contra o calor e o frio excessivos, doenças e invasões, de carrapatos a dentadas e pancadas e, sob certas circunstâncias, proteção mesmo contra lanças e tiros. A pele retém aquela preciosa substância vital, a água. Absorve a luz de que precisamos e até mesmo fabrica vitamina D. O que acha disso?
Pele.
Delicada ou áspera como, sim, couro. (Ao redor dos olhos, ela tem apenas meio milímetro de espessura; nas solas dos pés, cinco.) A epiderme é a camada externa, aquele revestimento bege, preto ou marrom que conseguimos enxergar, e a derme, que as máquinas de tatuar devem penetrar, fica abaixo. A pele é mestre em regeneração, o que significa que mesmo a mais linda das tatuagens do mundo desaparecerá se as agulhas não forem fundo o suficiente, o que seria algo como pintar a Mona Lisa na areia.
Mas esses fatos básicos acerca da pele, por mais interessantes que fossem para Billy Haven, não chegavam à verdade. Pele revela, pele explica.
Rugas evidenciam a idade e a maternidade, calos indicam a vocação e o hobby, cores sugerem saúde. E então existe a pigmentação. Uma história à parte.
Agora Billy Haven sentava e fazia um balanço de seu trabalho sobre o pergaminho da pele de sua vítima. Sim, bom.
Uma Mod do Billy...
O relógio em seu pulso direito vibrou. Cinco segundos depois, o segundo relógio, em seu bolso, também. Um tipo de alarme, prescrito pelos Mandamentos da Modificação.
E não era uma má ideia. Como a maioria dos artistas, Billy tendia a ficar imerso em seu trabalho.
Levantou-se e, com uma iluminação provida pela lâmpada fria presa à sua testa, caminhou pelo espaço sombrio sob o Provence².
Essa área era uma câmara octogonal, com cerca de dez metros de diâmetro. Três arcos levavam a três túneis escuros. Em outro século, pesquisara Billy, esses corredores eram usados para conduzir gado até dois diferentes abatedouros aqui no lado oeste de Manhattan.
Vacas saudáveis eram direcionadas a uma das portas, as doentes até a outra. Ambas eram abatidas por suas carnes, mas as infectadas eram vendidas aos pobres de Hell’s Kitchen ou enviadas até Five Points ou para o Brooklyn, rumo aos emporcalhados mercados de lá. O gado mais robusto acabava nas cozinhas do Upper East Side e do Upper West Side e nos melhores restaurantes da cidade.
Billy não sabia qual das saídas era a dos bifes saudáveis e qual era a dos doentes. Havia ido até o fim de ambos os corredores, um deles era de tijolos e outro de pedras, mas ele não conseguia deduzir qual era qual. Queria saber, pois desejava tatuar a jovem no corredor das carnes podres — parecia bem apropriado. Mas decidira fazer sua mod no local onde o abate do gado acontecia: no próprio octógono.
Ele a analisou cautelosamente. A tatuagem estava boa. A borda cicatrizada também. Ficou satisfeito. Quando tatuava clientes em sua loja em sua cidade natal, Billy nunca se preocupava com as reações. Ele tinha seus próprios critérios. Um trabalho para o qual seus clientes não ligassem muito poderia deixá-lo extasiado. Ou uma garota poderia olhar com os olhos marejados para a tatuagem de seu bolo de casamento (sim, algo bem popular) e chorar por causa da beleza dela, mas Billy acabaria reparando em uma falha, em um pequeno traço fora do lugar e ficaria furioso consigo mesmo por dias a fio.
Entretanto, essa arte estava boa. Ele estava satisfeito.
Imaginou se eles entenderiam a mensagem toda agora. Mas, não, nem mesmo Lincoln Rhyme era tão bom assim.
Pensando nos problemas que tivera mais cedo — no hospital e no prédio dos consultórios médicos —, ele decidira que era hora de começar a atrasar aqueles que o perseguiam.
Uma das passagens nos Mandamentos, escritas na caligrafia de Billy, era essa: “Reavalie constantemente as forças policiais que te investigam. Pode ser necessário atrapalhar o fluxo de suas investigações. Tenha como alvo apenas os policiais de patente mais baixa; os mais experientes e as autoridades empregarão mais esforços para te achar.”
Ou, nos termos de Billy: Castigarás todos aqueles que interferirem com a Modificação.
Sua ideia para atrasá-los era simples. Pessoas que nunca foram tatuadas acham que as máquinas usam uma agulha oca. Mas não é assim. Agulhas de tatuagem são maciças, geralmente são várias soldadas juntas, permitindo que a tinta escorresse pelas hastes e entrasse na pele.
Porém Billy tinha algumas agulhas hipodérmicas, para sedar suas vítimas. Ele enfiou a mão na mochila com seu material e retirou um frasco de remédio com uma tampa de travar. Abriu-o cuidadosamente e colocou o pote no chão. Selecionou uma pinça hemostática, uma pinça cirúrgica longa, a partir de seu inventário de equipamentos médicos furtados. Com ela, pegou de dentro do frasco plástico a ponta de quase dois centímetros de uma agulha hipodérmica de 30G — um dos menores diâmetros. Ele desgastara cuidadosamente a ponta da seringa e a preenchera com veneno.
Billy pegou a bolsa da mulher e inseriu a extremidade não perfurante da agulha no couro sob o fecho da bolsa, de modo que, quando o perito forense a abrisse, a ponta envenenada da agulha quase microscópica perfuraria a luva e a pele da pessoa. A ponta era tão fina que era provável que ela não sentisse nada.
Até que, é claro, mais ou menos uma hora depois, seria acometida pelos sintomas como se fosse uma bola de fogo. E esses sintomas eram deliciosos: a estricnina causa uma das dores mais intensas entre todas as toxinas. Incluía náusea, espasmos musculares, hipertensão, violenta contração do corpo, alta sensibilidade e, por fim, asfixia.
Quem é envenenado com estricnina basicamente tem espasmos até morrer.
Apesar de que, neste caso, a dosagem levaria um adulto a sofrer um severo dano cerebral em vez de morte.
Despeje pestilência em seus perseguidores.
Um gemido atrás dele.
Ela estava voltando à consciência.
Billy virou em sua direção, o feixe de luz halogênica ziguezagueando pelo ambiente, rápido, levado pelo movimento da cabeça dele.
Com cautela, deixou a bolsa no chão em um local que pareceria ter sido jogada por ele casualmente — a polícia iria achar que nela encontraria diversas evidências úteis e impressões digitais. Billy esperava que Amelia Sachs pegasse a bolsa do chão. Estava furioso com ela por tê-lo descoberto no hospital, mesmo que Lincoln Rhyme fosse o responsável. Ele queria poder um dia voltar à sala de espécimes, mas, graças a ela, jamais conseguiria.
E quanto a Rhyme? Billy achava possível que ele manuseasse a bolsa; soubera que o sujeito havia recuperado um pouco do movimento do braço e das mãos. Talvez ele calçasse uma luva e pegasse a bolsa. O policial definitivamente não sentiria a picada.
— Ah...
Voltou-se e olhou para a galeria de arte com a linda pele esticada perante ele. Marfim. Prendeu uma lanterna num lugar sobre sua tela e a ajustou. Observou a vítima, que semicerrava os olhos, primeiro pela confusão, depois, pela dor.
Seu relógio de pulso vibrou.
Então o outro.
Era hora de partir.
Luzes iluminavam a chuva com neve, as pilhas encrustadas de neve antiga e o asfalto molhado.
Brilhos azulados, brancos, vermelhos. Pulsantes. Urgentes.
Amelia Sachs desembarcava de seu Torino marrom, estacionado atrás de muitas ambulâncias, apesar de todas serem desnecessárias. O único veículo médico de que precisavam era a van do necrotério. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local relataram que Samantha Levine, a segunda vítima do suspeito, estava morta, declarada assim já na cena do crime.
Veneno novamente, é claro. Esse era o relatório preliminar dos socorristas, mas não havia dúvidas de que era um feito do Suspeito Cinco-Onze.
Como ela não retornara à mesa do chique restaurante Provence², seus amigos ficaram preocupados. Uma busca pelo banheiro revelou uma porta de acesso. Um garçom havia empurrado a porta, colocado a cabeça dentro, arfado e vomitado.
Sachs permaneceu na rua, observando o restaurante e os veículos que se acumulavam na rua. Lon Sellitto se aproximou.
— Amelia.
Ela balançou a cabeça.
— Conseguimos impedi-lo no hospital hoje de manhã e ele pegou outra pessoa. De pronto. Basicamente nos dizendo: “Vão se foder.”
Os clientes estavam pagando a conta e saindo, e os funcionários pareciam estar tão felizes quanto era possível se imaginar ao saber que um freguês havia sido sequestrado no banheiro e arrastado por um túnel sob seu estabelecimento e então assassinado.
Era apenas uma questão de tempo, pensou Sachs, até o Provence² ser fechado. Era como se o próprio restaurante fosse uma segunda vítima.
Calculou que a butique na Elizabeth Street também encerraria suas atividades em breve.
— Vou começar a vasculhar a área — resmungou o detetive grandalhão e caminhou lentamente, tirando um caderninho do bolso.
O ônibus dos peritos forenses embicou na calçada. Sachs acenou para a equipe de técnicos que saía do veículo. Jean Eagleston os liderava, a mulher que havia trabalhado na cena do assassinato de Chloe Moore no SoHo — ontem, mas já parecia ser mês passado. Ela estava com um novo parceiro, um latino esguio dono de um olhar calmo, mas investigativo — indicando ser o tipo perfeito para trabalhos em cenas de crime. Sachs se aproximou deles.
— Mesmo procedimento. Eu entro primeiro, investigo o corpo, vasculho o perímetro. Vocês lidam com o banheiro onde ele a pegou, qualquer rota de fuga.
— Farei isso, Amelia — disse Eagleston.
Ela assentiu, e Sachs se dirigiu à traseira do veículo dos investigadores para se vestir com o Tyvek, sapatilhas descartáveis, touca e luvas. Com o respirador N95 também. Lembrando que, seja lá o que acontecesse, ela não deveria removê-lo.
Ferrugem...
Dessa vez, óculos de proteção.
Enquanto vestia macacão, calhou de lançar um olhar para a rua. Na esquina, no lado da calçada do restaurante, havia um homem de jaqueta preta, similar à que o suspeito havia usado no hospital na tentativa de ataque a Harriet Stanton — apesar de aquele ali estar com um boné de beisebol e não gorro. Ele estava ao telefone e não prestava muita atenção à cena. Ainda assim, havia algo de artificial em sua postura.
Seria o suspeito de volta como tinha acontecido no SoHo?
Ela rapidamente desviou seu olhar dele e continuou a se vestir, tentando agir casualmente.
Não era comum um criminoso retornar à cena do crime — isso era um clichê, útil apenas em histórias de mistério ruins e filmes para a TV —, mas às vezes acontecia. Particularmente com criminosos que não eram profissionais, mas sim psicopatas, cujos motivos para matar estavam enraizados em distúrbios mentais ou emocionais, os quais se enquadravam no perfil do Suspeito Cinco-Onze.
Sob o pretexto de pegar um novo par de luvas do outro lado do ônibus, Sachs se aproximou lentamente de uma detetive que ela conhecia, uma arguta e vivida policial que recentemente havia sido alocada na região norte do centro de Manhattan. Nancy Simpson lidava com o controle da multidão e a evacuação dos clientes para fora das imediações conforme eles saíam do restaurante.
— Ei — chamou Sachs. — Nancy.
— Aquele cara de novo? — resmungou a mulher. Ela usava uma capa do polícia de Nova York, com o colarinho levantado protegendo-a do tempo ruim. Sachs gostou da boina verde-escura estilosa.
— Parece que sim.
— Está assustando as pessoas por toda a cidade — disse Simpson a ela.
— Os relatos de invasores em porões subiram cem por cento. Nenhum deles era real, mas enviamos patrulhas de qualquer forma. Para não deixar nenhuma ponta solta — acrescentou com uma piscadela. — E ninguém mais está lavando roupa. Com medo da lavanderia.
— Acho que podemos ter um problema aqui, Nancy.
— Diga.
— Não olhe para trás.
— Não vou olhar. Por quê?
— Tem um peixe que quero fisgar. Um cara na esquina. Nesse quarteirão. Ele está de jaqueta e boné de beisebol. Quero que você se aproxime, mas sem o encarar. Entende o que quero dizer?
— Claro. Estou vendo alguém. Visão periférica. Imaginei.
— Se aproxime. E então o pare. Prepare sua arma. Há uma chance mínima de ele ser o criminoso.
— O que fez isso?
— O que fez isso. Não é provável que seja, estou dizendo. Mas talvez seja.
— Como devo me aproximar?
— Você está verificando o tráfego, usando seu telefone, fingindo estar falando ao telefone, quero dizer.
— Eu o prendo?
— Apenas peça a identidade por enquanto. Eu vou por trás. Vou estar com a arma em punho.
— Ele é um peixe. Eu sou a isca.
Sachs olhou para o lado.
— Ah, merda. Ele sumiu.
O suspeito, ou seja lá quem fosse, havia desaparecido na esquina de um prédio cromado e de vidro com cerca de dez andares, perto do restaurante onde Samantha Levine estava jantando — antes da fatídica ida ao banheiro.
— Deixa comigo — avisou Simpson. Ela foi na direção para a qual o homem havia seguido.
Sachs correu até o posto de comando e disse a Bo Haumann que havia um possível suspeito. No mesmo instante ele mobilizou algumas pessoas da Unidade de Serviço de Emergência e outros policiais. Ela olhou de relance para Simpson. Do jeito que ela parou e olhou ao redor, Sachs deduziu que o suspeito havia mesmo desaparecido.
A detetive se virou e se apressou de volta até Sachs e Haumann.
— Desculpe, Amelia. Ele escapou. Talvez tenha entrado naquele edifício, o prédio chique na esquina, e escapado em algum carro.
— Vamos investigar isso — disse Haumann. — Temos um retrato falado do suspeito do homicídio de ontem.
Ela se lembrou daquele rosto sisudo com feições eslavas, dos olhos estranhamente claros.
O líder da Unidade de Serviço de Emergência disse aos homens que ele havia chamado:
— Entrem em formação. Achem-no. E alguém avise o departamento da região sul. Quero uma equipe descendo a rua 52. Vamos cercá-lo, se pudermos.
— Sim, senhor.
E saíram apressados.
Por mais que quisesse acompanhá-los — ela considerou deixar a investigação da cena do crime para outra pessoa —, Sachs terminou de se vestir para a varredura.
Já com a vestimenta, as sapatilhas e a touca, ela pegou o kit de coleta de evidências e, após olhar de volta para a rua pela qual o peixe havia escapado, Sachs se encaminhou rumo à porta do restaurante.
Sachs estava grata porque, tal como na cena de crime anterior, ela não teve de carregar os pesados refletores de luz halogênicas até o local do crime; eles já estavam posicionados e brilhando intensamente.
Obrigada, bombeiros.
Ela deu uma olhada nos diagramas do banco de dados de Rhyme do subterrâneo de Nova York para se orientar.
Havia algumas semelhanças com a cena anterior: o cano d’água, os conduítes de utilidade, as caixas de força amarelas marcadas com RIFO escrito. Mas havia uma diferença maior também. O ambiente era muito mais amplo. E ela conseguia alcançá-lo diretamente através da porta de acesso no banheiro. Nenhum caixão do tamanho de uma forma de pão.
Obrigada...
Ao notar as velhas cercas de madeira caídas e espalhadas pelo chão sujo, Sachs deduziu que ali havia sido parte de uma passagem para mover animais entre os matadouros, que costumavam funcionar perto daqui, em Hell’s Kitchen. Lembrou que o criminoso parecia ser influenciado pelo Colecionador de Ossos; o assassino que também usou um antigo abatedouro como cativeiro de uma de suas vítimas — prendeu-a a um pedaço de madeira, ensanguentada, para que fosse devorada por ratos viva.
O Suspeito Cinco-Onze certamente havia aprendido com os ensinamentos do mestre.
A porta de acesso no banheiro levava a um grande octógono, de onde três túneis se originavam levando à escuridão.
Sachs ligou a transmissão de áudio e vídeo.
— Rhyme? Está aí?
— Ah, Sachs. Estava esperando você.
— Pode ser que ele tenha retornado. Como aconteceu na Elizabeth Street.
— Retornado à cena do crime?
— Ou nunca ter saído. Vi alguém na rua, batia com a descrição. Bo Haumann colocou policiais para averiguar.
— Deu em algo?
— Ainda não.
— Por que ele está voltando? — ponderou Rhyme. Sem esperar uma resposta.
A câmera estava apontada para onde Sachs olhava — rumo à escuridão do fim de um túnel. Entretanto, antes de se voltar para o corpo, ela passou elásticos pelas sapatilhas e rastreou as pegadas do suspeito, estas também envoltas por um plástico protetor, as quais levavam a um dos túneis.
— Foi assim que ele entrou? Não consigo enxergar muito bem.
— Parece que sim, Rhyme. Vejo umas luzes mais à frente.
O criminoso não havia utilizado um bueiro para acessar o local. Este túnel, um dos três, levava até uma linha de trem — a que passava ao norte da Penn Station. Não era fácil ver a passagem devido a uma pilha de detritos, mas havia espaço o bastante para uma pessoa passar sobre ela. O suspeito havia simplesmente vindo de algum dos sentidos da linha, de um lugar perto da Via Expressa West Side e então escalado o entulho e seguido até o espaço octogonal onde Samantha havia sido assassinada. Sachs passou um rádio para Jean Eagleston e falou da cena do crime secundária — a rota de entrada/saída.
Sachs retornou ao centro do octógono, onde a vítima estava. Olhou para cima e protegeu os olhos dos fortes refletores que os bombeiros instalaram.
— Outra lanterna, Rhyme. É evidente que ele quer ter certeza de que a vítima seja encontrada.
Uma mensagem de nossos patrocinadores...
Tal como Chloe, Samantha estava algemada e seus tornozelos presos com silver tape. Também havia sido parcialmente despida — mas apenas a ponto de expor seu abdômen, onde o suspeito a tatuara. Um exame rápido revelou não haver nenhum contato sexual aparente também. De fato, havia algo estranhamente casto no modo como ele deixara ambas as vítimas. Isto é mais enigmático que um crime sexual direto, refletiu ela — já que sugeria o mistério subjacente do caso: por que ele estava fazendo isso? Estupro, pelo menos, estava fora de cogitação. E isso?
Ela olhou para baixo, em direção à tatuagem.
A voz de Rhyme irrompeu pelo silêncio.
— “quarenta”. Caixa baixa novamente. Parte da frase. Número cardinal dessa vez, não o ordinal “quadragésimo”. Por quê? — Irritado, acrescentou: — Bem, não há tempo para ficar especulando. Vamos em frente.
Ela analisou o corpo, raspando sob as unhas (nada evidente dessa vez, diferente do que foi com Chloe), coletou amostras do sangue, dos fluidos corporais e do presumível veneno que escorria do ferimento. Então procurou impressões digitais, apesar de ele novamente ter usado luvas, é claro.
Sachs vasculhou o perímetro, coletando vestígios perto do corpo e amostras distantes de detritos e resíduos para o controle. Analisou o chão.
— Sapatilhas novamente. Nenhuma marca de pegada.
— Ele estava usando sapatos novos — comentou Rhyme. — Ele vai descartar o outro, os famosos sapatos Bass tamanho 43. Agora devem estar jogados pelos esgotos do Bronx.
Enquanto vasculhava o perímetro, Sachs notou algo próximo das paredes opostas. À primeira vista, achou que fosse um rato deitado de lado.
Aquela protuberância não se movia, portanto, especulou que a criatura mastigara um pouco da carne de Samantha, ingerira o veneno e se arrastara até, por fim, morrer.
Mas, quando se aproximou, notou que não, aquilo era uma bolsa.
— Achei a bolsa da vítima.
— Ótimo. Talvez haja vestígios nela.
Sachs coletou a bolsa de couro e a jogou dentro de um saco de evidências.
Esta e todas as outras amostras coletadas também foram ensacadas em plástico ou papel e alocadas numa caixa de papelão.
Sachs passou a fonte de luz negra pelo corpo de Samantha, pelo chão do octógono, pelos túneis. Novamente o Suspeito Cinco-Onze havia apertado e analisado a pele da vítima. Pelas pegadas das sapatilhas, ela notou que o suspeito havia caminhado pelo túnel várias vezes, indo e voltando da pilha de detritos, o que era curioso. Ela relatou isso a Rhyme. Talvez tenha ouvido invasores, sugeriu ele. Ou talvez o suspeito tivesse deixado alguns de seus equipamentos na entrada do túnel. Ela tirou fotos disso e finalmente retornou para a porta de acesso, mais uma vez murmurando “obrigada” a ninguém em particular por não haver nada claustrofóbico nesta busca.
Quando voltou para o lado de fora, Sachs passou a bola para os outros peritos forenses, que já haviam terminado de investigar as cenas secundárias. A detetive Jean Eagleston relatou a não tão surpreendente notícia de que quaisquer vestígios dos movimentos do suspeito pela linha do trem e pela entrada do túnel foram destruídos pela chuva e pela neve.
A não ser pelo que provavelmente havia sido um breve confronto no banheiro, não havia sinais de que ele tivesse tocado em nada. Sem marcas de ferramentas nos parafusos que ele removera para ter acesso ao banheiro. E sem pegadas também, exceto aquelas de dezenas de sapatos incidentais — das pessoas que usaram o banheiro.
O barulho da neve caindo na touca que usava era irritante, e Sachs disse a Rhyme que iria desconectar a câmera, com medo de a umidade danificar o caro sistema de alta resolução.
Sachs voltou para o carro, onde preencheu os cartões da cadeia de custódia para cada item coletado, fazendo isso sob a tampa do porta-malas a fim de manter os cartões e os sacos de evidência secos. Ela removeu o traje de Tyvek e o descartou num saco que estava na van chamada até a cena do crime e que seria incinerado, então voltou para a rua, colocando sua jaqueta de couro.
Sachs notou Nancy Simpson, a detetive, conversando com Bo Haumann.
Os outros policiais que saíram para perseguir o peixe retornavam aos poucos.
Haumann esfregava seu cabelo grisalho com corte militar quando Sachs se aproximou.
— Nada. Ninguém o viu. Mas... — Ele olhou para cima, para o céu inóspito. — Não tem tanta gente na rua hoje à noite.
Ela fez um sinal com a cabeça para Lon Sellitto, que conversava com um grupo de pessoas da idade de Samantha. Sachs falou da perseguição — do suspeito ou de um transeunte inocente —, da perseguição que não deu em nada. Ele recebeu a notícia com um grunhido, então ambos se voltaram para os outros, que eram, segundo o detetive, os amigos que estavam com Samantha durante o jantar. Sachs já havia deduzido esse fato pelas suas expressões.
— Sinto muito pela perda de vocês — disse ela.
O rosto de uma das mulheres estava marcado por lágrimas — uma amiga de trabalho. A outra, uma loira, parecia irritada e impaciente. Sachs imaginou que ela estivesse com cocaína na bolsa. Deixa para lá.
Os dois homens estavam irritados e resolutos. Nenhum deles havia tido um relacionamento com Samantha, pelo que parecia. Mas um dividia o apartamento com ela; a maior dor entre os quatro ali residia no olhar dele.
Ela e Sellitto fizeram perguntas, descobrindo a já esperada informação de que Samantha Levine não tinha inimigos dos quais eles tenham ouvido falar. Ela era uma mulher de negócios e nunca tivera problemas com a lei.
Nem com ex-namorados.
Outra morte aleatória. De alguma forma, este era o mais trágico de todos os crimes: a vítima do acaso.
E, em vários aspectos, o tipo mais difícil de se solucionar.
Então, um homem num terno caro — sem sobretudo — se aproximou ligeiramente deles, alheio à neve e ao frio. Tinha por volta de 50 anos, bronzeado, um bom corte de cabelo. Não era alto, mas era bastante bonito e bem-proporcionado.
— Senhor Clevenger! — gritou uma das mulheres, e o abraçou. A colega de trabalho de Samantha. Ele a abraçou com firmeza e cumprimentou os outros do grupo com um aceno melancólico.
— Louise! É verdade? Acabei de saber. Acabaram de me ligar. É ela, a Samantha? Ela se foi?
Ele deu um passo para trás e a mulher a quem abraçava respondeu: — Sim, não acredito nisso. Ela está... Quero dizer, ela está morta.
O recém-chegado se voltou para Sachs, que perguntou: — Então você conhecia a senhorita Levine?
— Sim, sim. Ela trabalha para mim. Ela era... Eu estava conversando com ela poucas horas atrás. Tivemos uma reunião... poucas horas atrás. — Ele indicou com o olhar o prédio envidraçado ao lado do restaurante. — Ali.
Eu me chamo Todd Clevenger. — Ele entregou seu cartão a Sachs. Rede Internacional de Fibra Óptica. Era o presidente e o CEO da companhia.
— Havia alguma razão para alguém querer machucá-la? — perguntou Sellitto. — Alguma coisa relacionada ao trabalho dela que pudesse tê-la deixado em perigo? Que pudesse tê-la exposto a ameaças?
— Não consigo pensar em nada. Tudo o que fazemos é passar cabos de fibra óptica para internet banda larga... Apenas comunicação. De qualquer forma, ela nunca disse nada sobre estar em perigo. Não consigo imaginar.
Ela era a pessoa mais doce do mundo. Inteligente. Muito inteligente mesmo.
— Eu estava pensando em uma coisa — disse a mulher chamada Louise a Sachs. — Teve aquela mulher que foi morta esses dias. No SoHo. Esse é o mesmo psicopata?
— Não posso comentar, na verdade. É uma investigação em andamento.
— Mas aquela mulher foi morta no subsolo também, certo? Num túnel. Saiu no noticiário.
— Isso mesmo — confirmou o jovem magricelo com jeito de artista que havia se identificado como Raoul, com quem Samantha dividia o apartamento. — Foi a mesma coisa. O mesmo modus operandi, sabe?
Sachs se recusou a responder outra vez. Ela e Sellitto fizeram mais algumas perguntas, porém logo ficou claro que não havia mais nada no que essas pessoas pudessem ajudar.
Lugar errado, hora errada.
Uma vítima do acaso...
Em última análise, em casos onde a vítima havia ficado sozinha com o perpetrador, sem testemunhas, a verdade deveria ser revelada através de evidências.
E era isso que Sachs e os outros peritos forenses agora depositavam cuidadosamente no porta-malas de seu Torino.
Em cinco minutos ela estava acelerando pela Via Expressa West Side, luz azul piscando loucamente no painel, enquanto cantava pneu entre carros e caminhões — o ziguezague mais em função do motor possante e do conforto que sentia em dirigir em alta velocidade que pelo clima severo.
Perto das onze da noite Rhyme ouviu Sachs atravessando a porta, sua chegada era anunciada pelo assobio modulado do vento.
— Ah, finalmente.
Ela chegou à sala pouco depois, trazendo uma grande caixa de papelão contendo dezenas de sacos plásticos e papéis. Cumprimentou Cooper com um aceno, que se inclinava para o lado por causa da fadiga, mas parecia disposto a começar com as análises.
— Sachs, você disse que achava que ele estava perto da cena do crime?
— perguntou Rhyme prontamente.
— Exato.
— No que deu aquilo?
— Nada. Bo enviou alguns oficiais da Unidade de Serviço de Emergência atrás dele. Mas o homem já havia sumido. E não consegui dar uma boa olhada nele. Talvez não fosse nada. Mas meus instintos me diziam que era.
— Ela puxou um mapa de Hell’s Kitchen na tela do computador principal e apontou para o restaurante, Provence², e para o prédio de escritórios na esquina. — Ele foi por ali, mas... consegue ver? Fica a poucos quarteirões da Times Square. Ele se perdeu na multidão. Não tenho certeza de que era ele, mas é muita coincidência para ignorarmos completamente. Ele parece estar curioso sobre a investigação; além do mais, o criminoso de fato voltou até a Elizabeth Street e me espiou pela tampa do bueiro.
Olho no olho...
— Bem, vamos às evidências. O que temos, Sachs?
— Descubra! Quero dizer, descubra o que ela tem a dizer... Mas descubra rápido — interveio Thom Reston com firmeza. — Você vai se deitar em breve, Lincoln. Foi um longo dia.
Rhyme fez uma expressão de desaprovação mas também entendia que o trabalho do cuidador era mantê-lo saudável e vivo. Tetraplégicos eram suscetíveis a uma série de condições problemáticas, sendo a mais perigosa delas a disreflexia autonômica — um pico na pressão sanguínea acarretado por estresse físico. Não era claro que a exaustão fosse um fator que desencadeasse a condição, mas Thom desconfiava de tudo.
— Sim, sim, sim. Só mais uns minutos.
— Nada excepcional — respondeu Sachs, indicando a evidência.
Mas raramente havia evidências significativas, ponderou Rhyme. O trabalho na cena do crime era gradual. E descobertas óbvias, acreditava ele, tornavam-se imediatamente suspeitas; poderiam ser evidências plantadas.
O que acontecia com mais frequência do que se pode imaginar.
Primeiro, Sachs mostrou as fotos da tatuagem.
Ela estava cercada pela borda no formato de várias conchas que, de acordo com TT Gordon, era significante de alguma forma.
O que tornava a natureza críptica da mensagem ainda mais exasperante.
— Primeiro “o segundo” e agora “quarenta”. Nenhum artigo precedendo essa de agora, mas novamente sem pontuação.
O que ele estava comunicando? Um espaçamento de trinta e oito números entre dois e quarenta. E por que a troca de ordinal para cardinal?
— Isso me parece um lugar, um endereço — ponderou Rhyme. — GPS ou coordenadas de latitude e longitude. Mas ainda não o suficiente para fazermos algo.
Ele desistiu de especular e se voltou para as evidências que ela havia coletado. Sachs selecionou um saco e o entregou a Cooper. Ele retirou o tufo de algodão que estava ali dentro.
— O veneno — disse Sachs. — Uma amostra foi encaminhada ao escritório do médico-legista, mas quero que comecemos antes. Bote para assar, Mel.
Cooper passou o material pelo processo de cromatografia e, alguns minutos depois, já tinha um espectro de massa.
— É uma combinação de atropina, hiosciamina e escopolamina.
Rhyme olhava fixamente para o teto.
— Isso vem de uma planta... Sim, sim... Droga, não consigo me lembrar de qual.
Cooper digitou a lista de ingredientes no banco de dados de toxinas e, pouco depois, relatou: — Trombeta. Brugmansia.
— Isso — lembrou-se Rhyme. — Claro que é. Mas não conheço os detalhes.
Cooper explicou que ela era uma planta sul-americana, particularmente popular entre os criminosos colombianos, que a chamavam de “sopro do diabo”. Eles a assopravam no rosto de suas vítimas e a droga anestésica e paralisante os deixava inconscientes ou, se permanecessem conscientes, ficavam incapazes de revidar.
E, na dosagem certa, como em Samantha Levine, a droga poderia levar à morte em questão de minutos.
Coincidentemente, naquele instante, o telefone que ficava na sala tocou: era do escritório do legista.
Cooper ergueu uma sobrancelha, olhando para Sachs.
— Deve estar sendo uma noite lenta lá. Ou você os assustou a ponto de eles nos priorizarem, Amelia.
Rhyme sabia qual dos dois era o caso.
O legista-chefe de plantão confirmou que o sopro do diabo era o veneno que havia sido aplicado no abdômen de Samantha Levine com a mensagem tatuada. Acrescentou que aquela era uma versão ultraconcentrada da toxina. E que havia resíduos de propofol em sua corrente sanguínea.
Cooper lhe agradeceu.
Sachs e o técnico continuaram a examinar os vestígios que ela havia coletado. Dessa vez, entretanto, não encontraram variações a partir das amostras de controle, o que significava que os resíduos encontrados no corpo da vítima e nos locais onde o sujeito havia pisado na cena do crime não foram trazidos por ele; todos eram provenientes do curral do abatedouro subterrâneo.
Isso significava que as substâncias não levariam a nenhum lugar por onde o criminoso pudesse ter estado.
— Ergo — resmungou Rhyme —, inútil pra cacete.
Por fim, Sachs usou uma pinça para pegar um saco plástico contendo o que parecia ser, para Rhyme, uma bolsa.
— Primeiro achei que fosse um rato. Marrom, sabe? E a alça parecia ser o rabo. Cuidado, tem uma armadilha dentro dela. — Lançou um olhar para Cooper.
— O quê? — perguntou Rhyme.
— A bolsa estava lá, a uns três metros do corpo de Samantha — explicou ela. — Havia algo estranho naquilo. Olhei de perto e notei uma agulha espetada para fora. Muito pequena. Usei um fórceps para pegar a bolsa. — Sachs acrescentou que ela vinha ficando alerta com relação a armadilhas, porque o psicólogo do Departamento de Polícia, Terry Dobyns, dissera que o criminoso poderia começar a visar àqueles que o perseguem.
— Aquele miserável sorrateiro — disse Cooper, olhando por uma lupa para examinar a agulha. — Hipodérmica. Eu diria de 30G. Muito pequena.
Substância branca dentro dela.
Rhyme se aproximou com sua cadeira de rodas e observou; seus olhos atentos conseguiram identificar um minúsculo brilho perto do fecho.
Cooper pegou uma pinça hemostática e então, com cautela, tirou a bolsa do saco.
— Procure por explosivos — pediu Rhyme. Esse não era o estilo do suspeito, mas nunca se sabe.
A varredura deu resultado negativo. Ainda assim, Cooper decidiu depositar a bolsa num recipiente de contenção e utilizou braços mecânicos para abri-la, dada a possibilidade de a bolsa também ter sido preparada com alguma armadilha que espirrasse toxina em quem a abrisse.
Mas não era o caso, a agulha era o único ardil. O conteúdo da bolsa era mundano, para não dizer maçante, indícios de uma vida abruptamente ceifada: uma carteirinha do plano de saúde, uma nota de agradecimento por uma doação feita para o combate ao câncer de mama, um cupom de desconto de um restaurante no centro de Manhattan. Fotos de crianças — sobrinhas e sobrinhos, pelo que parecia.
Quanto à armadilha, Cooper removeu a agulha com cuidado.
— É pequena — comentou Rhyme. — O que pensar disso?
— Pode ser usada para injeção de insulina, mas esse tipo é mais utilizado por cirurgiões plásticos — respondeu Cooper.
— Ele também tem propofol — lembrou Rhyme. — Um anestésico geral. Pode ser que esteja planejando algum tipo de cirurgia plástica como parte de seu plano de fuga. Embora talvez apenas tenha invadido um armazém de suprimentos médicos e roubado o que quis. Sachs, verifique se há algum relato disso no mês anterior na região.
Ela se afastou para fazer uma ligação para a central, requerendo uma busca no Centro Nacional de Informações Criminais.
— Porém há algo ainda mais importante — continuou Rhyme. — Aquela agulha em particular: o que está dentro desse pequeno presente para a gente? Seria mais um pouco de trombeta?
Cooper analisou a amostra. E, pouco depois, leu os resultados.
— Não, é pior. Bem, eu não diria pior. Isso seria um julgamento qualitativo. Direi apenas que é mais eficiente.
— Você quer dizer mais letal? — perguntou Rhyme.
— Muito mais. Estricnina. A toxina vem de uma planta do gênero Strychnos— explicou Cooper. — A substância era popular como raticida. E uma arma comum para assassinatos um século atrás, apesar de agora ser bem menos usual, já que ela é facilmente identificável. É a toxina que mais causa dor. Não o suficiente para matar um adulto, mas a quantidade aqui deixaria a vítima fora de combate por semanas e causaria danos cerebrais.
O lado positivo disso, na perspectiva do detetive, era o veneno ainda ser vendido comercialmente como pesticida. Rhyme mencionou isso a Sachs e Cooper.
— Vou ver se consigo encontrar algum fornecedor comercial — avisou o técnico. — Eles devem manter registros de venda de venenos.
Cooper olhou para seu computador e franziu a testa.
— Dezenas de fontes. Lojas de material de construção. E tudo o que ele precisaria seria de uma identidade falsa para comprar um pouco. Pagar em dinheiro. Sem vestígios.
No mundo da ciência forense, excesso de opção era tão ruim quanto escassez.
Sachs recebeu uma ligação e escutou por um momento, então agradeceu à pessoa do outro lado da linha e desligou.
— Nenhum registro de roubos de drogas nem de outros equipamentos ou suprimentos médicos na área nos últimos trinta dias, exceto por alguns maconheiros e cracudos invadindo farmácias; todos eles foram presos.
Nenhum sinal de propofol faltando.
Thom surgiu na porta.
— Ah, que expressão austera.
— Quase meia-noite, Lincoln. Você vai para a cama.
— Sim, querida, sim, querida. — Então Rhyme disse a Cooper: — Tome cuidado, Mel. Não há por que ele saber que você está trabalhando no caso, mas, ainda assim, cuidado. Sachs, mande uma mensagem para Lon e Pulaski e diga a eles a mesma coisa. — Um olhar rápido para a espectrometria de massa da estricnina. — Somos alvo agora. Ele declarou guerra.
Ela enviou a mensagem para os dois policiais, então se aproximou de um quadro-branco vazio e anotou as evidências, também as informações que ela e Lon Sellitto haviam conseguido sobre da vítima.
Rua 54, Oeste, 614
Vítima: Samantha Levine, 32 anos – Trabalhava na Rede Internacional de Fibra Óptica – Nenhuma ligação provável com o suspeito – Nenhum abuso sexual, mas toques na pele
Suspeito 5-11
– Ver detalhes da cena anterior – Pode ter retornado à cena do crime
Ninguém o avistou – Nenhuma impressão digital – Nenhuma pegada
Morte: envenenamento por Brugmansia, inserida através de tatuagem
– Trombeta, sopro do diabo – Atropina, hiosciamina e escopolamina
Tatuagem
– “quarenta” circundado por escarificação em formato de conchas – Por que numeral cardinal?
Sedada com propofol – Como foi obtido?
Acesso a suprimentos médicos? (Nenhum furto local.)
Localização
– Sequestrada no banheiro do restaurante Provence, porão – Local do crime ficava sob o banheiro, no subterrâneo da área de abate de um matadouro do século XIX
– Infraestrutura similar à da cena anterior:
RIFO
Roteador ConEd
Alimentação de corrente direta da Autoridade Metropolitana de Trânsito (Metrô)
Lanterna
– Genérica, não rastreável
Algemas
– Genéricas, não rastreáveis
Silver tape
– Genérica, não rastreável
Sem vestígios
Bolsa deixada como armadilha – Agulha hipodérmica de cirurgião plástico – Estricnina dentro da agulha
Impossível localizar a fonte
Provavelmente não em quantidade letal
Rhyme contemplou os dados e então encolheu os ombros.
— Isso é tão misterioso quanto a mensagem que ele está tentando enviar.
— Meia-noite — interveio Thom.
— Ok, você venceu.
Cooper vestiu sua jaqueta e deu boa-noite.
— Sachs? — chamou Rhyme. — Você vem comigo?
Ela havia se distanciado do quadro e olhava para os galhos desolados revestidos com neve se curvando perante o vento persistente pela janela.
— O quê? — Pelo que parecia, ela não escutara.
— Você vem para a cama?
— Vou em alguns minutos.
Thom subiu as escadas, e Rhyme girou sua cadeira de rodas até o elevador que o levaria ao segundo andar. Uma vez lá, dirigiu-se ao quarto.
Entretanto parou e inclinou a cabeça tentando escutar. Sachs estava ao telefone, falando baixo, mas ele conseguiu ouvir o que ela dizia.
— Pam, ei, sou eu... Espero que você esteja verificando suas mensagens.
Eu realmente queria conversar com você. Me liga. Ok, te amo. Boa noite.
Aquilo era a terceira ligação do dia, acreditava Rhyme.
Ele escutou os passos de Sachs vindo pelas escadas e imediatamente embicou para o quarto e começou uma conversa com Thom — o que devia ter sido algo surreal para seu cuidador, visto que Rhyme não se concentrava nem um pouco no que dizia; apenas queria evitar que Sachs descobrisse que ele a havia escutado suplicar a Pam Willoughby.
Sachs apareceu no topo da escada e caminhou em direção ao quarto.
Rhyme pensava em como deveria ser perturbador quando pessoas que são o centro de nossas vidas se encontram, de repente, vulneráveis. E, pior ainda, quando mascaram isso com sorrisos estoicos, como Sachs fazia agora.
Ela notou o olhar de Rhyme e perguntou: — O quê?
— Só estava aqui pensando. Tenho um pressentimento de que amanhã vamos pegá-lo — improvisou Rhyme.
Ele esperava que ela ficasse incrédula e dissesse algo como: “Você? Você tendo um pressentimento?”
Mas, em vez disso, ela olhou subitamente para a tela do celular, guardou-o no bolso e, com o olhar para além da janela, disse:
— Pode ser, Rhyme. Pode ser.
A CENTOPEIA VERMELHA
Suando, gemendo alto, Billy Haven acordou de um sonho ruim.
Com a Sala do Oleandro.
Apesar de todos os sonhos com aquele lugar — e havia muitos — serem, por definição, difíceis.
Este foi particularmente apavorante porque seus pais estavam nele, mesmo tendo morrido alguns anos antes de Billy ter entrado pela primeira vez na Sala do Oleandro. Talvez fossem fantasmas, mas pareciam reais. A estranha realidade da ilusão dos sonhos.
Sua mãe assistia ao que ele fazia e gritava: — Não, não, não! Pare, pare!
Mas Billy, com um sorriso tranquilizador, retrucava: — Está tudo bem — mesmo sabendo que não estava. Estava qualquer coisa, menos bem. Depois percebia que sua fala tranquilizadora não significava nada, pois sua mãe não podia escutá-lo. O que apagava o sorriso de seu rosto e fazia com que se sentisse péssimo.
Seu pai apenas meneava a cabeça, desapontado com o que estava vendo. Imensamente desapontado. Isso também deixou Billy chateado.
Mas seus papéis no sonho faziam sentido, agora que pensou sobre isso: seus pais haviam morrido e de maneira sangrenta.
Perfeita e tenebrosamente lógico.
Billy sentia cheiro de sangue, via sangue, sentia gosto de sangue.
Pintava temporariamente sua pele com ele. Fatos que aconteceram tanto no sonho quanto na Sala do Oleandro. Ele pintava sua pele como pessoas de algumas culturas fazem quando colocar piercings é proibido.
Billy estendeu o lençol e se sentou, passando seus pés no chão frio.
Limpou o suor da testa com um travesseiro, visualizando todos eles: seus pais e a Garota Adorável.
Olhou para baixo, para as tatuagens nas coxas. Na esquerda:
ELA
Na outra:
LIAM
Dois nomes que ele se orgulhava em carregar. Que carregaria para sempre. Eles representavam uma grande lacuna em sua vida. Mas uma lacuna que logo seria preenchida. Um erro que logo seria reparado.
A Modificação...
Olhou para o restante do corpo.
Billy Haven quase não tinha tatuagens, o que era estranho para alguém cuja renda vinha do trabalho de tatuador. A maior parte dos tatuadores era atraída para a profissão por gostar de modificações corporais, era até mesmo obcecada por agulhas, pelo encanto da máquina. Mais. Quero mais.
E os tatuadores muitas vezes ficavam deprimidos com a diminuição progressiva das áreas não tatuadas em seus corpos e pela impossibilidade de preenchê-las com mais trabalhos.
Mas Billy, não. Talvez ele fosse como Michelangelo. O mestre gostara de pintar, mas não particularmente de ser pintado.
Pele dos dedos tocando...
A verdade era que Billy não queria ter se tornado tatuador. Aquilo fora apenas um trabalho temporário que o havia ajudado a pagar a faculdade.
Mas ele descobrira que gostava da prática e, enquanto um artista tradicional de caneta e pincel teria dificuldades em fazer dinheiro, um artista da tatuagem conseguiria se dar bem. Então, colocou de lado o seu — de certa forma — inútil diploma da faculdade, montou uma loja em um shopping e começou a fazer um bom dinheiro com as Mods do Billy.
Olhou novamente para suas coxas.
ELA LIAM
E depois para seu braço esquerdo. A centopeia vermelha.
A criatura tinha uns cinquenta centímetros de comprimento. Sua parte posterior ficava no meio de seu bíceps, e o desenho se movia na forma de um S preguiçoso até a parte de trás de sua mão, onde a cabeça do inseto repousava — a cabeça com um rosto humano, lábios grossos, olhos sábios, um nariz e uma boca cercando as presas.
Tradicionalmente, as pessoas faziam tatuagens de animais em si mesmas por duas razões: para assumir atributos da criatura, como a coragem de um leão ou a furtividade de uma pantera, ou para servir de emblema para imunizá-los contra perigos de um predador em particular.
Billy não sabia muito sobre psicologia, mas sabia que, dentre as duas, fora a primeira delas a razão que o levara a escolher esse animal para decorar o braço.
Entretanto, tudo o que ele sabia era que trazia conforto.
Vestiu-se e juntou seu material, depois passou um rolo adesivo pela roupa, cabelo e corpo algumas vezes.
Seu relógio de pulso vibrou. Depois o outro, em seu bolso, fez um barulho semelhante alguns segundos depois.
Era hora de caçar mais uma vez.
Ok. Isso é um saco.
Billy estava em um túnel escuro e silencioso embaixo da região oeste do centro de Manhattan, movendo-se em direção ao local onde iria tatuar uma nova vítima até a morte.
Mas sua rota tinha sido bloqueada.
No século XIX, havia aprendido, este túnel abrigava uma conexão de uma ferrovia curta que ligava uma fábrica a uma estação de trem próxima à rua 44. Era uma gloriosa construção de tijolos de pedra e arcos elegantes, surpreendentemente livres de mofo ou pragas. Os trilhos e as travessas já não estavam mais lá, no entanto a herança do transporte de passageiros ainda era evidente: a algumas quadras de distância, Billy conseguia ouvir os trens se movendo ao norte e ao sul da Grand Central Station. Dava para ouvir as linhas de metrô também. Acima e abaixo. Algumas tão próximas que fazia poeira cair.
O túnel o teria levado até muito perto de sua próxima vítima — se não fosse por alguns trabalhadores sem consideração fecharem com tijolos a passagem nas últimas vinte e quatro horas, obra com a qual Billy não contara.
Um saco...
Ele analisou a passagem escura, iluminada por um filtro suave criado pelas grelhas de escoamento e por tampas de bueiro toscas. Também por rachaduras em alguns dos prédios próximos. Como passar pela parede sem ter de subir até a superfície? O Homem do Subterrâneo deveria permanecer no subterrâneo, ora.
Caminhando mais uns cinquenta metros, Billy notou uma escada constituída de barras de ferro em forma de U presas à parede. Os degraus levavam, três metros acima, a uma passagem menor que parecia transpor a obstrução. Ele se livrou da mochila e foi até a escada. Subiu e olhou para dentro. Sim, ela parecia conduzir a outro túnel ainda maior que o levaria até onde queria chegar.
Voltou ao chão, pegou sua mochila e continuou a jornada.
Foi quando um homem surgiu do nada.
Aquela figura sombria avançou sobre ele, enlaçou Billy em um abraço de urso e o apertou contra a parede do túnel.
Senhor, rezava Billy. Me salve, Senhor...
Suas mãos tremiam, e o coração acelerava com o choque.
O homem o olhou de cima a baixo. Ele era mais ou menos do tamanho e da idade de Billy, porém muito forte. Surpreendentemente forte. Ele fedia, aquele cheiro complexo de pele e cabelo humanos sujos misturados a óleos da rua. Jeans, duas camisetas de algum brechó, uma branca e outra azul-clara. Um casaco esportivo de feltro esfarrapado, originalmente de boa qualidade, roubado ou retirado de uma lixeira em algum bairro chique. O cabelo do homem era bagunçado, mas curiosamente sua barba estava bem-feita. Seus olhos escuros eram arredondados, estreitos e selvagens. Billy pensou imediatamente no doutor Moreau.
Homem-Urso...
— Minha quadra. Aqui é a minha quadra. Você está na minha quadra. Por que você está na minha quadra? — Seus olhos de predador dançavam por todos os lados.
Billy tentou se desvencilhar, mas parou rapidamente quando o Homem-Urso, com muita destreza, abriu uma navalha com um só movimento e encostou a ponta reluzente na garganta de Billy.
— Cuidado aí. Por favor. — Billy sussurrava essas palavras. Talvez outras também. Ele não tinha certeza.
— Minha quadra — repetia o Homem-Urso, aparentemente nem um pouco inclinado a ser cuidadoso.
A navalha raspou a barba cultivada por um dia em seu pescoço. Soava como a transmissão de um carro para Billy.
— Você — vociferou o homem.
Pensou novamente em seus pais, em sua tia e em seu tio, em outros parentes.
Na Garota Adorável, é claro.
Ele iria morrer, e dessa forma? Tola, trágica.
O aperto intenso se estreitou ainda mais.
— É você? Aposto que sim. Quem mais você seria, não é? É claro.
E qual seria uma suposta resposta para aquilo?
Não se mover, antes de tudo. Billy percebeu que, se o fizesse, sentiria uma dor formigante abaixo de sua mandíbula e, depois do corte, tontura, enquanto o sangue jorraria continuamente. E depois não sentiria absolutamente mais nada.
— Olha, eu sou da prefeitura — disse Billy. — Trabalho para a cidade.
— E acenou com a cabeça para seu macacão. — Não estou aqui para incomodar você. Estou apenas fazendo o meu trabalho.
— Você não é repórter?
— Sou da prefeitura — repetiu Billy, tocando cautelosamente o macacão com um dedo. E arriscou: — Odeio repórteres.
Isso parecia ser reconfortante para o Homem-Urso, embora ele não tivesse relaxado muito. Ainda segurava a navalha com firmeza em uma de suas enormes e nojentas patas. A outra mão continuava a pressionar dolorosamente Billy contra a parede do túnel.
— Julian? — perguntou o Homem-Urso.
— O quê?
— Julian?
Como se o nome fosse um código e Billy devesse responder com a contrassenha. Se errasse, seria decapitado. Suas mãos suavam. Ele tentou a sorte.
— Não, não sou o Julian.
— Não, não, não. Você conhece o Julian Savitch? — perguntou, irritado com o fato de Billy não estar acompanhando.
— Não.
— Não, não? — questionou o Homem-Urso, cético. — Ele escreveu aquele livro.
— Bom, eu não o conheço. De verdade.
Um exame bem de perto do rosto de Billy.
— Era sobre mim. Não somente eu. Sobre todos nós. Tenho um exemplar. Eu tenho um exemplar autografado. Alguém da prefeitura — cutucou o logotipo no macacão. — Alguém da prefeitura o trouxe aqui. Para a nossa quadra. Aqui. Minha quadra. Você sabia disso?
— Eu não sabia... Não, eu nem mesmo sei...
— A lei diz que posso cortar você se eu me sentir em perigo e o júri acreditar mesmo que eu estava em perigo. Não que eu estivesse em perigo de verdade. Mas se eu me sentisse em perigo. Você vê a diferença? Isso é tudo que eu preciso. E você está morto, meu chapa.
As frases se atropelaram, alvoroçadas, como carros dentro de um trem de carga freando bruscamente.
Billy perguntou com calma: — Qual é o seu nome?
— Nathan.
— Por favor, Nathan. — Então se calou quando a lâmina raspou sua garganta outra vez.
Rasp, rasp...
— Você mora aqui embaixo? — perguntou ao Homem-Urso.
— Julian disse coisas ruins sobre nós. Ele nos chamou daquele nome.
— Nome?
— E nós não gostamos! Foi você quem o mandou para cá? Alguém da prefeitura fez isso. Quando eu o encontrar, vou matar. Ele nos chamou daquele nome.
— Que nome? — Billy pensava que essa seria uma pergunta lógica a se fazer e que não despertaria a ira do Homem-Urso somente por trazer o assunto à tona, evidentemente sensível.
A resposta, cuspida, foi: — Homens-toupeira. Em seu livro. Sobre nós que moramos aqui.
Milhares de nós. Somos sem-teto, na maioria. Moramos nos túneis e nas passagens subterrâneas. E ele nos chamou de homens-toupeira. Não gostamos disso.
— E quem gostaria? — perguntou Billy. — Não, eu não trouxe ninguém aqui. E não conheço nenhum Julian.
A navalha brilhava, mesmo na penumbra, e era cuidada com amor. Era o tesouro do Homem-Urso, e Billy compreendeu a barba bem-feita, não muito comum entre os sem-teto, pensou.
— A gente não gosta disso, de ser chamado disso, de toupeiras — repetiu o Homem-Urso, como se já tivesse esquecido o que acabara de dizer. — Sou uma pessoa como você e eu.
Bem, aquela frase mal fazia sentido. Mas Billy balançou a cabeça, concordando, pensando que estava prestes a vomitar.
— Claro que você é. Bem, eu não conheço o Julian, Nathan. Só estou aqui verificando os túneis. Pela segurança, sabe?
O Homem-Urso o encarou.
— É claro que você diz isso, mas por que eu deveria acreditar em você?
Por quê? Por quê? Por quê? — Palavras apressadas que pareciam um rosnado.
— Você não tem que acreditar em mim. Mas é verdade.
Billy pensou que estava, de verdade, prestes a morrer. Pensou nas pessoas que tinha amado.
ELA
LIAM
Ele pensou em uma prece.
O Homem-Urso-Não-Toupeira segurou Billy mais firme. A lâmina no mesmo lugar.
— Sabe, muitos de nós não escolhem morar aqui. Não queremos morar aqui. Você não acha isso? Todos nós preferiríamos ter uma casa em Westchester. Alguns de nós iam preferir foder a esposa numa quinta-feira e levá-la para visitar os sogros em lindos dias de primavera. Mas as coisas não saem sempre como planejamos, não é?
— Não, elas não saem, Nathan. Elas com certeza não saem.
Billy, desesperado para estabelecer alguma empatia entre eles, ficou a segundos de contar ao Homem-Urso as tragédias de seus pais e da Garota Adorável. Mas não o fez. Não era necessário um Mandamento da Modificação para lembrá-lo de não fazer coisas estúpidas.
— Eu não estou ajudando autores a escrever sobre vocês. Estou aqui para me certificar de que os túneis não entrem em colapso e que não haja vazamentos de água ou gás. — Apontou para uma variedade de canos que passava pelo teto do túnel.
— O que é isso? — Nathan levantava a manga da camisa de Billy. E olhava para a centopeia com uma fascinação infantil.
— Uma tatuagem.
— Bem, é muito bonita. Muito boa. — A navalha foi baixada, mas não guardada. Deus, as mãos de Nathan eram enormes.
— É o meu hobby.
— Foi você que fez essa? Você que fez em você mesmo?
— Fiz, sim. Não é muito difícil. Você gosta?
— Sim, acho que sim — admitiu Nathan.
— Posso te dar uma tatuagem, Nathan. Se eu fizer, você tiraria essa lâmina da minha garganta?
— Que tipo de tatuagem?
— Qualquer coisa que você quiser.
— Eu não vou subir lá para a rua. — Nathan disse isso como se Billy houvesse sugerido um passeio pelo centro de um reator nuclear prestes a explodir.
— Não, eu posso fazer aqui. Posso tatuar você aqui mesmo. Gostaria de uma?
— Acho que sim.
Um aceno de cabeça em direção à mochila.
— Estou com a minha máquina aqui comigo. — Repetiu: — É o meu hobby. Eu faço uma tatuagem em você. E que tal algum dinheiro? Tenho algumas roupas também. Eu dou tudo isso se você afastar a navalha e me deixar ir.
Meu Deus, ele é forte. Como pode ser tão forte, morando aqui embaixo?
Nathan podia matá-lo com as mãos; ele mal precisaria da lâmina reluzente.
Sobrancelhas contraídas em dúvida.
Nathan apertava a navalha em Billy, cada vez mais forte, pensou Billy. A lâmina se moveu tão nervosa e barulhenta quanto as frases do Homem-Urso.
— Nathan? — chamou Billy.
O homem não respondeu.
— Nathan, eu não sabia que essa era a sua quadra. Eu só estava fazendo o meu trabalho, verificando os canos e as válvulas e tal. Quero que as pessoas fiquem seguras por aqui.
A navalha pairou no ar.
E a respiração do Homem-Urso parecia mais forte agora, enquanto ele encarava a centopeia. A tinta vermelha. O rosto, as presas, as partes do corpo.
Os olhos indecifráveis.
— Nathan? — sussurrou Billy. — Uma tatuagem. Você quer uma tatuagem?
Convenhamos, qual funcionário de manutenção não carrega uma máquina American Eagle para, por mero impulso, tatuar pessoas?
— Vou fazer em você a minha melhor tatuagem. Você gostaria disso? Será um presente. E as roupas e o dinheiro que falei? Cem dólares?
— Não vai doer?
— São umas picadinhas. Nada demais. Vou pegar a minha mochila agora. As roupas, o dinheiro e a minha máquina de tatuar estão lá. Tudo bem se eu pegar a minha mochila?
— Acho que tudo bem — murmurou Nathan.
Billy puxou a mochila para mais perto e retirou as peças da máquina.
— Você pode se sentar ali. Tudo bem?
A navalha ainda não estava tão distante e ainda estava aberta. Deus ou o Diabo ou o fantasma de Abraham Lincoln diriam a Nathan para matar o intruso a qualquer momento. Billy se moveu muito devagar.
Humm. Parecia que Nathan estava recebendo alguma mensagem lá do céu.
Ele gargalhou e sussurrou uma sequência indecifrável de sílabas.
Por fim, sentou-se cruzando as pernas e deu um sorriso irônico.
— Ok, vou me sentar aqui. Me tatua.
Sua respiração normalizou e seu coração acelerado voltou a bater mais devagar apenas quando Billy também se agachou no chão completamente imundo.
Enquanto Nathan observava com cuidado, Billy terminava de montar sua American Eagle. Retirou alguns frascos e os colocou no chão. Testou a peça. Ela zumbiu.
— Só uma coisa — disse o homem fatidicamente, erguendo um pouco a navalha.
— O que foi?
— Não faça uma toupeira. Não tatue uma toupeira em mim.
— Não vou fazer uma toupeira, Nathan. Eu prometo.
Nathan dobrou a navalha e a guardou.
— A gente não chama de pistola.
— É, é, eu sei. Eu esqueci. Eu quis dizer máquina. Máquina de tatuagem — disse Lon Sellitto.
— E preferimos “trabalho” ou “arte na pele”. “Tatuagem” tem uma conotação cultural que não me agrada.
A pequena mulher, toda tatuada (com a pele artefeita?), olhou fixamente para Sellitto por trás de um imaculado balcão de vidro, no qual pacotes com agulhas, peças de máquinas — e não pistolas — de tatuagem, pilhas de papéis para estêncil, canetas laváveis em todas as cores e livros se encontravam muito bem organizados. Desenho primeiro, tinta depois, advertia uma placa.
A loja era tão limpa quanto a de TT Gordon. Aparentemente, tatuadores de verdade levavam esse lance de doença bem a sério. Até dava a impressão de que a mulher sairia da sala caso precisasse espirrar.
Seu nome era Anne Thomson e era a proprietária do Femme Fatale Modificações e Assessórios . Trinta e poucos anos, cabelos curtos e pretos, tinha somente um piercing no nariz, de bom gosto, e era muito bonita. E parte disso devido às tatuagens coloridas, ok, aos trabalhos em seu peito, pescoço e braços. Um deles — o do peito — era a fusão entre uma cobra e um pássaro. Sellitto se lembrou vagamente de uma figura que ele avistara algumas vezes enquanto passava as férias no México, algum símbolo religioso. Em seu pescoço havia algumas constelações, não somente estrelas mas também os animais nos quais elas se inspiravam. Caranguejo, escorpião, touro. E, quando ela se virou, Sellitto viu a tatuagem de dois sapatos vermelhos brilhantes em seu ombro. Eles pareciam reais. Dorothy, minha lindinha...
Foda-se a arte, Linc. É isso o que penso de arte.
Mas isso não se aplicava agora. Sellitto realmente gostou das imagens.
As figuras pareciam se mover, se expandir e se contrair. Quase tridimensional. Como aquilo era feito? Parecia que ele estava olhando para pinturas vivas. Ou para uma criatura totalmente diferente, algo não humano, mas sim sobre- humano. Isso o levou de volta aos jogos de computador que seu filho jogava quando era adolescente. Sellitto se lembrou de olhar sob os ombros do menino e perguntar: — O que é isso? — E apontou para uma das criaturas do jogo. Parecia uma cobra com pernas e tinha um rabo de peixe e uma cabeça humana.
— Um nyrad, é claro? — Tipo, óbvio.
Ah. Claro. Um nyrad.
Sellitto levantou a cabeça e percebeu que estava encarando o peito da mulher.
— Eu...
— Tudo bem. Eles estão aqui para serem olhados. No plural mesmo. Os trabalhos, quero dizer. Não os peitos.
— Eu...
— Você já disse isso. Não acho que você seja um velho tarado. Você só está prestes a me perguntar se elas doeram.
— Não, eu tenho certeza de que doeram.
— E doeram. Mas quais coisas importantes na vida não doem?
Sexo, jantar e pegar um criminoso canalha, pensou Sellitto. Na maioria das vezes, essas coisas não doíam. Mas ele deu de ombros.
— O que eu ia perguntar era se você mesma faz os desenhos. Se você os cria, quero dizer.
— Não. Fui até uma artista em Boston. A melhor da Costa Leste. Eu só queria um Quetzalcoatl. Um deus mexicano. — Seus dedos tocaram a cobra no peito. — E conversamos por uns dias e ela começou a me conhecer melhor. Fez a serpente emplumada e sugeriu as constelações. Os sapatos da Dorothy também. — Ela sorriu. Sellitto sorriu. — Não quero ser exageradamente política, se bem que eu sou mesmo. É assim que as artistas mulheres veem a tatuagem. Um homem entra no estúdio de um artista e diz: quero uma corrente, uma caveira e uma bandeira. E ele sai com uma corrente, uma caveira e uma bandeira. Mulheres têm uma abordagem diferente. Menos impulsivas, menos instantâneas, mais profundas.
— Assim como na vida, de um modo geral — murmurou Sellitto. — Homens e mulheres, quero dizer. — Mas a pergunta sobre o Suspeito Cinco-Onze ainda precisava ser respondida. — Ei, por curiosidade: como você entrou nesse ramo?
— Você quer saber por que, tirando essas artes, eu pareço uma professorinha?
— Sim.
— Eu era uma professorinha. — Thomson deixou a pausa durar.
Timing. — Ensino fundamental. Isso sim é uma zona desmilitarizada! Sabe, uma terra de ninguém entre os hormônios ao sul e mau humor ao norte.
— Eu tenho um filho. Um menino. Já saiu da faculdade agora. Mas ele teve que passar por essa fase, sabe como é.
Ela fez que sim com a cabeça.
— Não foi fácil para mim. Fui tentar um trabalho em um estúdio na cidade e... É difícil de explicar, ele me libertou. Pedi demissão da escola e abri uma loja. Hoje eu faço trabalhos na pele e também pinto telas.
Exposições no SoHo, em Upper Manhattan também. Mas eu não poderia ter feito nada disso se antes eu não tivesse me tatuado.
— Impressionante.
— Obrigada. Mas você estava perguntando sobre a máquina American Eagle.
O estúdio de Thomson era o único na região metropolitana de Nova York que vendia peças e agulhas para o modelo. Ela também tinha um exemplar antigo à venda. Para Sellitto parecia perigosa, complicada. Como uma arma laser de algum filme esquisito de ficção científica.
— Posso perguntar por que está interessado?
O detetive ponderou. E decidiu que devia contar tudo a ela. Talvez fosse o fato de Thomson ser tão devota à sua arte. Ou de ter o peito tão incrível. E acabou contando o que o Suspeito Cinco-Onze estava fazendo.
— Não, meu Deus, não! — Seus olhos estavam tão arregalados quanto os do deus cobra-pássaro eram cerrados. — Alguém está mesmo fazendo isso, matando pessoas com uma máquina?
Ela estremeceu, e, por um instante, Thomson, com todas as suas criaturas imponentes e sapatinhos de O Mágico de Oz, não parecia mais de forma alguma tão misteriosa ou sobre-humana. Parecia vulnerável e pequena. TT Gordon teve a mesma reação: uma sensação de traição ao pensar que alguém, em sua unida comunidade profissional, usaria seu talento para matar e fazê-lo de maneira tão particularmente assustadora.
— Receio que sim.
— As American Eagles são máquinas antigas, não tão confiáveis quanto as novas. Uma das primeiras portáteis.
— Foi isso que o TT disse.
Thomson concordou.
— Ele é um cara legal. Você tem sorte de ter a ajuda dele. E acho que posso te ajudar também. Nunca compraram uma dessas máquinas aqui, mas na semana passada um homem veio e comprou algumas agulhas para a American Eagle.
Thomson se curvou para a frente, descansando as mãos no balcão. O anel preto e brilhante em seu dedo indicador direito era, na verdade, uma tatuagem.
— Não prestei muita atenção. Ele devia ter 20 e tantos anos, talvez 30.
Branco. Usava um gorro escuro e um cachecol em volta do pescoço, que quase cobria o queixo. Estava de óculos de sol também, coisa que ele não precisava, já que o tempo estava tão ruim quanto hoje. Os óculos pareciam hipsters e cafonas. Mas recebemos muitos imagistas aqui. Há uma linha tênue entre ser poser com tatuagens e ser autêntico com elas.
Imagistas. Inteligente.
Sellitto mostrou o retrato falado.
Thomson encolheu os ombros.
— Pode ser. Como eu disse, não estava prestando muita atenção. Ah, mas de uma coisa eu me lembro. Ele não tinha tatuagens visíveis. Também não tinha piercings. Os artistas de pele, em sua maioria, são bem modificados.
— Ele tem uma no braço. Talvez um dragão, uma criatura qualquer. Em vermelho. Significa alguma coisa?
A mulher da cobra-pássaro balançou a cabeça.
— Não. Depois daquele livro, aquele thriller, muita gente queria dragões. Bando de imitadores. Sem significado, pelo que eu saiba.
Em seguida, Sellitto perguntou: — Você sabe de algo significativo sobre tatuar as palavras “o segundo”?
Ou “quarenta”? Elas significam alguma coisa no mundo da arte na pele?
— Não, não que eu tenha ouvido falar.
Ele mostrou fotos das tatuagens.
— Bem — disse ela. — Escrita gótica. Essa é difícil de fazer. E as lesões, essa parte alta? Isso é por causa do veneno?
— Sim.
— Bom, o que quer que seja, ele é bom. Muito bom.
— E ele trabalhou rápido. Provavelmente fez isso em dez, quinze minutos.
— Sério? — Thomson parecia impressionada. — E a escarificação também? A borda em forma de conchas?
— Tudo em dez ou quinze minutos. Isso, ou o estilo, pode dar a você alguma ideia de quem possa ser esse cara?
— Na verdade, não... Mas eu não vejo o contorno.
— Não, TT disse que ele usou bloodlines. Fez à mão livre.
— Bom, ninguém que eu conheça conseguiria fazer um trabalho como esse em quinze minutos. E eu conheço todos os artistas talentosos da cidade. Esse cara com quem você está lidando é um tremendo artista.
— TT disse que ele é de outra cidade, mas não soube dizer de onde.
— Bem, não vemos muito dessa fonte aqui na área. Mas eu não saberia dizer o que é moda hoje em Albany ou Norwalk ou Trenton. A minha clientela é mesmo essa do centro de Manhattan.
— Ele pagou as agulhas em dinheiro, certo?
Por que se incomodar em perguntar?
— Isso mesmo.
— Alguma chance de você ainda ter esse dinheiro? Pelas impressões digitais.
— Não, mas não seria muito útil. Ele estava usando luvas.
Naturalmente...
— Também achei um pouco estranho. Mas não a ponto de suspeitar, sabe?
Imagistas.
— Ele disse alguma coisa?
— Para mim? Não. Só pediu as agulhas.
Sellitto, prestando atenção na primeira frase: — Mas...?
— Mas fez uma ligação quando estava saindo, na hora que apertei o botão para abrir a porta para ele e fui para a sala dos fundos. Quando ele estava saindo, falou: “Sim, o Belvedere.” E depois acho que falou “endereço”. De qualquer maneira, foi o que entendi. Mas poderia muito bem ter sido “bebedeira” ou qualquer coisa do tipo.
Sellitto anotou tudo. E fez a pergunta padrão: — Consegue se lembrar de mais alguma coisa?
— Não, acho que não.
Normalmente era “acho que não” ou “infelizmente não”. Mas, pelo menos, Thomson havia pensado sobre a pergunta e estava sendo honesta.
Ele agradeceu e, com um último olhar para o Quetza-qualquer-coisa no peito dela, retornou à neve e à chuva, procurando Rhyme na discagem rápida do celular para dizer a ele que não ficasse com muitas expectativas, mas que talvez eles tivessem uma nova pista.
Um bom treino.
Caminhando de volta da academia para seu apartamento na rua 52, Leste, para pegar o carro, Braden Alexander contava os abdominais que tinha feito. Havia desistido após passar de cem.
Isso é, de contá-los. Os abdominais propriamente ditos? Vários. Perdeu a noção de quantos.
Alexander tinha um emprego sedentário — escrevendo códigos de programação para uma das grandes empresas de investimento (uma que ainda não havia sido alvo de investigação) — e, aos 37 anos, estava determinado a se manter em forma, apesar das oito horas diárias que passava na mesa de trabalho e de uma hora de jornada, ida e volta, a Jersey, onde a sede da empresa de TI se localizava.
E a rosca de braço direta? Com pesos de quatorze quilos? Talvez duzentas repetições? Droga, realmente estava sentindo o músculo. Decidiu que iria pegar um pouco mais leve no dia seguinte. Não havia necessidade de se forçar tanto. Era mais importante ser consistente, e Alexander sabia disso. Todo dia ele caminhava de seu apartamento até a academia, a leste, na Sexta Avenida. Todo dia a bicicleta ergométrica e os exercícios com pesos e os agachamentos e, sim, os abdominais, abdominais, abdominais...
Que tal cento e cinquenta?
Provavelmente.
Olhou para sua imagem refletida em uma janela e pensou: o peso está ok. Sua pele parecia um pouco pálida. Isso não era muito bom. Ele e sua família em breve viajariam para uma ilha. Talvez depois do Dia de Ação de Graças. De qualquer maneira, quem não ficaria com a aparência de doente em um dia como esses? A neve havia diminuído, mas a luz do dia estava cinzenta e anêmica. Ele esperava ansiosamente para voltar ao seu cubículo, de verdade. Achava-o aconchegante, palavra que não usava com ninguém a não ser com sua esposa.
Hoje também aguardava ansiosamente por outra coisa. Mais tarde ele pegaria uma bicicleta na casa do irmão, em Paramus. Joey tinha comprado uma nova mountain bike e daria a sua antiga para o filho de Alexander. O menino estava muito empolgado e já havia mandado duas mensagens da escola, somente para verificar “como estão as coisas?”.
A impaciência da juventude.
Olhou ao sul e avistou a nova Trade Tower, ou qualquer que seja o nome que darão a ela. Estivera trabalhando em seu primeiro emprego, escrevendo linhas de código para um banco, quando os atentados aconteceram, em 2001. A nova estrutura era impressionante, mais interessante arquitetonicamente do que os simples retângulos de seus antecessores. Mesmo que nada pudesse ser comparado ao seu estilo, à sua grandeza.
Que tempos foram aqueles. Seu primeiro filho havia nascido um dia antes do atentado. Alexander e sua esposa abandonaram o plano de batizá-lo com o nome do pai dela e acabaram escolhendo Emery, por causa da empresa de arquitetura Emery Roth & Sons, que, junto de Minoru Yamasaki, havia projetado as Torres Gêmeas originais.
Alexander continuou a caminhar para o leste em direção ao seu apartamento, onde iria pegar seu carro para ir trabalhar. Quando parou em um sinal vermelho, olhou para trás e viu que havia alguém atrás dele, com a cabeça baixa. Um cara qualquer, jovem, com roupas escuras e usando um gorro de lã. Uma bolsa ou uma mochila no ombro. Será que era o mesmo que estava sentado em um café do outro lado da rua da academia?
Ele estava me seguindo?
Alexander morava na cidade havia quinze anos. Ele considerava Nova York a área urbana mais segura do mundo. Mas também não era idiota. Só conseguira o emprego que tinha por causa de criminosos. Quando começou a trabalhar como programador, há alguns anos, sua função era hackear códigos que fizessem os sistemas operarem mais suavemente, expandindo o fluxo na rede e permitindo que vários sistemas operacionais pudessem dialogar uns com os outros sem interrupções. Todavia, com o passar dos anos, tinha se especializado em segurança. Hackers comerciais, terroristas e marginais sem nada para fazer e com neurônios demais no cérebro agora atormentavam instituições bancárias, tal como seu empregador, com ataques cada vez mais ousados e geniais.
Esta havia se tornado a especialidade de Alexander: colocar obstáculos no caminho de hackers espertos e safados.
Havia escutado uma história sobre um profissional de segurança de computadores que tinha sido atacado fisicamente. E, às vezes, questionava-se se estava correndo algum perigo real. Não tinha ouvido falar de nada específico sobre hackers saberem seu nome mas também estava ciente de que era impossível manter toda a informação a seu respeito escondida de alguém com vontade suficiente para o rastrear.
Próximo ao seu prédio, Alexander parou e, fingindo fazer uma ligação, olhou para trás mais uma vez. O homem de casaco e gorro continuava o seguindo, com a cabeça abaixada. Ele não parecia estar prestando atenção em Alexander. E então, sem hesitar, o suposto hacker golpista entrou em um prédio antigo do outro lado da rua, agora um espaço comercial, com uma placa de Aluga-se presa em uma janela suja. Talvez fosse um agente imobiliário ou um novo locatário. Ou um zelador examinando um aquecedor defeituoso — já que estava prevista uma daquelas noites de gelar os ossos.
Entretido com sua própria preocupação desnecessária, Alexander continuou em direção à porta da garagem de seu prédio, onde guardava o Subaru. Ter lugar no estacionamento era um luxo — a vaga por si só teria custado mais que seu primeiro apartamento. Mas ter um espaço garantido na cidade que trouxe ao mundo o rodízio de vagas públicas? Não tinha como ficar melhor — mas, na verdade, teve: sua vaga era coberta, então nunca teve de tirar a neve com pá ou raspar o gelo de seu carro. Muito bem coberta, de fato. O espaço era no terceiro andar do subsolo.
Alexander acenou para o caixa do estacionamento, que respondeu: — Olá, senhor Alexander. Quando será que melhora? Você sabe o que eu quero dizer? — O homem magro de pele acinzentada olhou para o céu.
Ele tinha dito praticamente a mesma coisa todos os dias da última semana.
Alexander sorriu e deu de ombros. Ele desceu a rampa em espiral do lugar escuro.
No último andar, o andar do Suba, como sua esposa havia apelidado o carro, Alexander andou por um caminho com o teto rebaixado em direção ao local onde já se podia ver a frente de seu carro verde. A garagem — este andar, pelo menos — parecia completamente deserta. Porém ele não mais se sentia apreensivo, agora que o assassino imaginário que o seguira havia desaparecido dentro do prédio do outro lado da rua. Além do mais, nenhum assaltante — ou hacker com a intenção de quebrar seus dedos de digitador — ousaria arriscar atacá-lo aqui. A única maneira de entrar seria passando pelo vigilante atendente.
Você sabe o que eu quero dizer?...
Ao se aproximar do Subaru, pegou as chaves e destrancou o carro apertando o botão no controle do alarme. As luzes piscaram. Foi até o carro, pensando na bicicleta para o filho. Estava ansioso para pegar a sua própria bicicleta de dez marchas e andar com Emery pelo Central Park no próximo fim de semana.
Sorria com a ideia da atividade prazerosa quando um homem saiu tranquilamente por trás da parede à direita de Alexander e acertou seu pescoço.
— Mas que merda...? — Alexander engasgou e se virou.
Ah, meu Deus, meu Deus... O cara usava um macacão cinza como o de um eletricista ou de um funcionário da manutenção, mas seu rosto parecia o de um alienígena — coberto por uma máscara amarelada, de látex.
Logo depois viu a agulha hipodérmica na mão amarela, enluvada.
Alexander tocou o pescoço dolorido.
Ele havia sido perfurado com alguma coisa! A primeira coisa que pensou foi: aids.
Algum tipo de maluco: não, não, não...
E depois pensou: ninguém vai sair ileso dessa merda. Alexander havia feito vários cursos de defesa pessoal e uma aula de kickboxing na academia.
Sem mencionar os músculos que tinha devido aos milhares de abdominais e roscas de braço. Ele se virou para encarar o homem e plantou seus pés firmemente no chão, recuando o braço direito, lembrando de bater rápido e não parar.
Um, dois, finge que vai bater, bate.
Um, dois...
Mas seu corpo não estava mais obedecendo. Estava pesado. Pesado demais até para levantar o braço. E notou o pânico terrível, o choque, desaparecendo. Nem com medo mais ele estava.
E, quando a luz fraca ficou ainda mais escassa, ele entendeu: Não, não era sangue contaminado. Claro que não. Era algum tipo de sedativo qualquer que o babaca havia injetado nele. Com certeza, com certeza era o cara que o perseguira. Ele havia chegado aqui embaixo vindo do prédio do outro lado da rua. Mas como...? Ah, ali. Havia uma pequena porta metálica de acesso aberta. Por trás da escuridão, um túnel ou um porão. E a missão do cara? Sequestrar Alexander. Fazê-lo revelar códigos ou falhas de segurança nos programas de seus clientes.
— Eeeeuuu voouuuu teee faaalaarrr... o queee... — falava Alexander.
Tentava falar.
Diga! Vamos lá! Eu te dou a informação que você quer. Só me deixe ir.
— Euuuu. Doouuu. Voocêê queeee...
As sílabas estavam se despedaçando.
E, com isso, as palavras saíam apenas como um gargarejo.
Ficou surpreso ao perceber que não estava mais de pé, mas sim sentado, paralisado, encarando aquela aberração mascarada. Olhando em volta. O pneu do Subaru. Uma embalagem de chocolate Hershey’s. Uma marca oval de xixi de cachorro já seco no chão.
O agressor se abaixou próximo a uma mochila.
Enquanto a escuridão aumentava, escuridão de verdade agora, Alexander semicerrava os olhos, focando na tatuagem estranha no braço esquerdo do homem. Uma cobra... não, uma centopeia. Com um rosto humano.
E em seguida já estava deitado com as costas no chão, muito fraco até mesmo para se sentar. O agressor puxou bruscamente os pulsos de Alexander para trás das costas e o algemou. Rolou-o mais uma vez de barriga para cima.
Só porque esse cara tinha uma máscara de pele derretida e uma tatuagem macabra não significava que ele fosse um assassino psicopata.
Não, ele só queria os códigos de acesso do servidor principal da Levingston Associates. Ou a senha para desabilitar o sistema de segurança do Banco de Nassau Oriental.
É claro.
Ele não era um maluco.
Eram apenas negócios. E só. Somente negócios. Não queriam machucá-lo. E eles queriam as informações? Tudo bem, ele daria as informações.
Senhas e códigos? Eles teriam as senhas e os códigos.
Somente negócios, certo?
Mas então por que ele estava levantando a jaqueta e a camisa de Alexander e olhando atentamente para seu abdômen? E avançando e batendo na pele com um dedo rígido e examinador?
Só pode ser... Só...
E a escuridão o envolveu completamente.
— Onde você está, Sachs?
— Quase lá. — Sua voz ecoava pelo alto-falante na sala de Rhyme. O perito forense estava aqui com Pulaski e Cooper, enquanto Amelia Sachs estava, no momento, cruzando o Central Park, em uma das transversais, sentido leste. — Vou desligar. Tenho que dirigir.
O que aconteceu foi que quarenta e oito lugares em Manhattan tinham a palavra “Belvedere” no nome. Esta fora a conclusão de outra equipe reunida por Lon Sellitto no One Police Plaza. Já houve a equipe Encontrem-o-Livro-Esgotado, agora desfeita, e a atual Que-Merda-as-Palavras-o-Segundo-e-Quarenta-Significam, ainda ativa.
Agora havia a equipe Qual-Belvedere-É-o-Certo, formada graças à fortuita escuta não autorizada feita pela artista de pele Anne Thomson.
Quarenta e oito recorrências do nome Belvedere em Manhattan (que parecia ser a área de caça favorita do Cinco-Onze; além disso, não se pode procurar por toda parte).
Lanchonetes, prédios de apartamentos, empresas de transporte, lojas, uma cooperativa de táxis, uma balsa.
Um serviço de acompanhantes.
Há meia hora, na sala de Rhyme, ele e Sachs, acompanhados por Sellitto, Cooper e Pulaski, debateram quais dos Belvederes seriam os mais prováveis de possuir uma ligação com o suspeito. Claro, o nome pode não ter nada a ver com um próximo alvo. Poderia ser onde morava, ou próximo de onde morava, ou sua lavanderia ou onde comprava comida para o gato.
Ou uma empresa que despertava sua curiosidade. Mas, por ser cuidadoso, eles assumiram que era o possível local de um crime e queriam levar uma equipe tática para os lugares mais prováveis o mais rápido possível.
Haviam decidido que três deles eram bons candidatos para um ataque.
O primeiro era um armazém abandonado na área de Chelsea em Manhattan — ao norte de Greenwich Village. Era composto de um extenso labirinto de passagens subterrâneas e depósitos. Perfeito para os propósitos do suspeito, embora Cooper tivesse alertado para o fato de lá ser muito deserto.
— Ele teria que pegar a vítima em algum outro lugar.
Rhyme levou isso em consideração, mas conseguiu algumas imagens de câmeras de segurança e com elas percebeu que lá havia mais trânsito de pedestres do que se poderia imaginar — incluindo alguns corredores, mesmo em um dia com tanto vento.
— Ele só precisa de um — apontou Rhyme.
Sellitto ligou para a Unidade de Serviço de Emergência e pediu que mandasse um grupo para lá.
O segundo Belvedere era um cinema antigo no Upper West Side, um daqueles tipos imponentes comuns na região da Broadway, com ornamentos suntuosos, onde Clark Gable ou Marilyn Monroe estreavam seus filmes. Estava fechado neste momento e, de acordo com um dos diagramas subterrâneos de Rhyme, tinha uma série de porões, perfeito para o Suspeito Cinco-Onze levar suas vítimas. Outro grupo da Unidade de Emergência foi mandado para o local.
A última possibilidade era um condomínio na região leste do centro de Manhattan chamado Belvedere. Uma estrutura velha e suja, assim como o gótico Dakota. Ele possuía tanto um grande porão quanto uma garagem subterrânea. O detetive fez com que uma terceira equipe corresse para lá.
— Está com cara de ser esse aí — dissera Sachs. — Eu também vou.
Rhyme havia notado seus olhos, aquele olhar de caçadora, o foco persistente, que ele achava tão atraente, e ao mesmo tempo tão enervante.
Sachs era uma das melhores peritas forenses que Rhyme já havia conhecido. E ela nunca se sentia tão viva como quando liderava uma batida em um ambiente tático.
Ela saiu rápido do carro, pegou o casaco e avançou. Sellitto seguia logo atrás.
Rhyme recebeu uma mensagem de Sellitto, também em movimento, dizendo que a equipe tática que estava no armazém em Chelsea não havia encontrado nada. O comandante da Unidade de Emergência, Bo Haumann, havia deixado uma pequena equipe de segurança e dividido os outros; uma equipe em direção ao condomínio Belvedere e outra ao cinema, que era enorme; a busca levaria algum tempo.
Assim que ele desligou, seu telefone tocou novamente.
— Rhyme? — A voz de Sachs saiu nos alto-falantes.
— Acabei de ter notícias de Lon — avisou Rhyme. Ele explicou que o armazém fora um fracasso. — O que significa que você vai receber reforços.
Uma equipe da Unidade de Emergência está a caminho do condomínio onde você está.
— Não estou, Rhyme — resmungou ela. — Estarei. O trânsito está terrível. E ninguém sabe dirigir com o tempo assim. Subi na calçada.
Espere. — Rhyme ouviu uma batida enquanto o Torino dela provavelmente retornava ao asfalto de Nova York. Ele imaginou se houve danos à transmissão e aos eixos do carro. — Do jeito que está, dez minutos. E olha que é só cruzar a cidade. Meu Deus.
Rhyme notou outra chamada em seu telefone.
— Já te ligo de volta, Sachs. A Unidade de Emergência está na outra linha.
— Lincoln, você está aí? — Era Haumann.
— Sim, Bo. Qual é a situação?
— Equipe tática 2 quase chegando ao condomínio Belvedere. Vamos direto para o porão e para a garagem. Alguma outra evidência de que ele possa estar armado? — Haumann talvez tivesse se lembrado do incidente anterior, no hospital em Marble Hill, onde o Suspeito Cinco-Onze havia ameaçado atirar em Harriet Stanton e em Sachs.
— Nada além do que sabemos. Mas assuma que ele esteja armado.
— Vou passar a informação adiante. — Uma pausa enquanto Haumann falava com alguém em seu carro ou na van da Unidade de Serviço de Emergência. Rhyme não conseguia ouvir a conversa. — Ok. Vamos entrar em silêncio.
— Vou dizer para Amelia que vocês estão aí. Ela vai querer participar de qualquer operação tática. Eu não me arriscaria. Vocês não podem esperar.
Entrem o mais rápido possível.
— Claro, Lincoln, vamos lá.
— Diga para a sua equipe tomar cuidado com armadilhas. Esse é o novo joguinho dele. Usem luvas e respiradores.
— Positivo. Um momento... Ok, Lincoln?
— Estou aqui.
— Temos um helicóptero posicionado. Você quer se conectar e assistir?
— Claro.
O comandante da Unidade de Serviço de Emergência lhe deu o código e logo depois Rhyme, Pulaski e Cooper estavam com os olhos fixos no monitor. Era uma imagem de alta resolução de dois caminhões táticos quadradões da Unidade de Emergência, números de identificação claramente estampados no teto. Rhyme conseguia enxergar vinte e quatro soldados espalhados pela porta do prédio e outros descendo a rampa de saída da garagem. O funcionário do estacionamento estava sendo levado para um local seguro por um dos oficiais.
O áudio estava funcionando também. Rhyme ouvia as tropas enquanto elas abriam caminho pelas instalações: “... Corredor sudoeste, nível um, limpo... Porta de acesso aqui ... Não, está trancada... ”
Haumann desligou. Rhyme novamente telefonou para Sachs e contou a ela da conversa.
Ela suspirou.
— Minha estimativa de chegada é para daqui a cinco minutos.
Ele conseguiu perceber seu descontentamento por perder a invasão.
A atenção de Rhyme se voltou para o conteúdo do rádio de operação tática.
— Equipe tática 2A entrando, descendo as escadas para o último andar.
Equipe tática 2B está descendo a rampa da garagem. Espere um pouco... Por enquanto, sem resistência, sem inocentes. Sinal verde. Câmbio.
— Rhyme, estou quase chegando. Eu...
Mas ele não ouviu o que ela disse depois. Um dos oficiais gritava pelo rádio: — Equipe tática 2B... Temos uma ocorrência aqui. Subsolo, na garagem...
Meu Deus... Chamem os bombeiros. Agora! Vão! Vão! Precisamos de bombeiros aqui agora! Câmbio.
Fogo?, ponderou Rhyme.
Outro oficial ecoou a pergunta: — O que está pegando fogo? Não vejo nada em chamas. Câmbio.
— Equipe tática 2B. Negativo para fogo. O criminoso abriu uma tubulação para acobertar sua fuga. E agora temos um alagamento. Não podemos passar. Já são quinze centímetros de água. E está subindo.
Precisamos de um bombeiro com uma chave para fecharmos essa merda.
Câmbio.
Rhyme ouviu uma risada ao longe — aparentemente de alívio por terem de lutar somente contra a água e não contra as labaredas de um incêndio.
Ele, no entanto, não estava contente. Rhyme sabia exatamente o que seu ágil suspeito havia feito: causado o alagamento não somente para atrapalhar quem o perseguisse mas para destruir todas as evidências que ele poderia ter deixado para trás.
Corria agora, cada vez mais rápido.
Billy Haven estava no subterrâneo, no túnel do antigo trem mais uma vez, voltando pelo local onde o Homem-Urso, Nathan, havia chegado bem perto de ter lhe presenteado com uma modificação a navalha.
Sua mochila parecia leve como uma folha em seu ombro — é isso que a adrenalina provoca — enquanto ele corria muito rápido. A máscara de látex havia sido retirada, mas não as luvas ou o macacão. Carregava os sapatos. Estava de meias. Não havia, e ele pesquisara, nenhum banco de dados de tecidos de meias que pudesse permitir um rastreamento. E as sapatilhas descartáveis eram muito escorregadias para uma corrida.
Vai logo, vai logo, vai logo...
O sinal de alerta que tinha precipitado sua rápida fuga da garagem do Belvedere não havia sido o barulho dos freios dos caminhões do Serviço de Emergência ou os passos leves dos policiais. Ele soubera pouco antes que estava em perigo. A central de polícia tinha reportado o endereço e mencionado o nome Belvedere, enquanto Billy escutava pelo fone de ouvido, conectado ao seu rádio sintonizado na frequência da comunicação da polícia.
Tomara algumas medidas para ter certeza de que a localização — e a vítima — fossem inúteis para a polícia.
Deverás limpar a cena do crime de tudo que possa ser incriminador.
E depois já estava de volta cruzando a porta de serviço que dava acesso à parede da garagem do Belvedere.
E, mais uma vez, no subterrâneo.
Enfim era seguro subir à superfície, pensou Billy. Peito doendo, tossindo discretamente, ele subiu por outra porta de acesso dentro do porão do prédio de escritórios no centro de Manhattan. Era um daqueles prédios de calcário polido, marca registrada da arquitetura da primeira metade do século XX, talvez até mais antigo. Dez, doze andares, com pouca luz e elevadores que, de tanto chacoalhar, fariam com que alguém se benzesse antes de entrar.
Entretanto, Billy seguiu pelas escadas do porão e, depois de verificar, subiu com calma até o saguão do primeiro andar, a casa de advogados de porta de cadeia, contadores e de algumas operações de importação e exportação com nomes escritos no alfabeto cirílico ou em pictogramas asiáticos. Tirou o macacão, jogou-o dentro de uma lata de lixo e pegou um gorro diferente, bege, para mudar um pouco. Calçou os sapatos de volta.
Através da porta de vidro engordurada que dava para a rua, Billy parou e procurou pela polícia. Ninguém. O que fazia sentido; ele estava longe o suficiente do local do ataque no Belvedere. Os policiais passariam algum tempo ocupados. Ele se divertia ao pensar no que poderia estar acontecendo na garagem.
Ao colocar os pés de volta na rua, deslocou-se rapidamente para o leste.
Como o grande antecipador havia antecipado isso? Sim, ele fora ao condomínio Belvedere algumas vezes examinar o lugar. Talvez tivesse carregado algum rastro de lá que havia sido descoberto. Parecia improvável, mas, com Rhyme, tudo era possível.
Andando debaixo da neve que caía, mantinha a cabeça abaixada e recapitulava se cometera algum erro. Em seguida: sim, sim... lembrou-se.
Uma semana atrás, ou mais, ele ligara para o auxílio à lista telefônica a fim de pedir o número do Belvedere e verificar o horário de funcionamento do estacionamento. Estava na loja de acessórios para tatuagens, comprando agulhas extras para a American Eagle. Foi assim que o encontraram.
O que levantou uma pergunta: a única razão para a proprietária ter mencionado o Belvedere seria porque a polícia quis saber quem havia comprado a American Eagle ou as agulhas para a máquina. Mas como descobriram que sua arma era essa?
Ele teria de pensar mais a respeito disso.
Havia uma estação de metrô bem à sua frente, e ele desceu as escadas cobertas de lama e pegou um trem no sentido sul. Em vinte minutos Billy estava de volta a sua oficina, ao chuveiro, deixando a água quente cair em sua pele enquanto ele a esfregava repetidamente.
Enxugou-se e se vestiu de novo.
Ligou o rádio. Pouco depois o noticiário reportou outro ataque do “Homem do Subterrâneo”, nome que, para Billy, soava como um apelido extremamente patético. Não dava para terem inventado nada melhor?
Ainda não havia nenhuma menção a Amelia Sachs ou a ninguém mais como vítima de um ataque com estricnina. O que significava que, por diligência ou por sorte, os peritos escaparam de tomar uma picada da agulha deixada na bolsa de Samantha.
Billy sempre soubera que a Modificação seria uma batalha, com vitórias e derrotas em ambos os lados. Ele havia sido bem-sucedido com duas vítimas. A polícia tinha conseguido algumas vitórias também. Era de se esperar — na verdade, já fora antecipado. Agora, ponderou, ele precisava ser um pouco mais sério quanto à sua proteção.
Teve uma ideia.
Surpreendentemente simples, surpreendentemente boa.
O Mandamento aplicável a esta situação seria: Conhecerdes teu inimigo.
Mas conhecerdes também os amigos e os familiares de vossos inimigos.
— Que inferno, Amelia, a situação está tão ruim assim? — perguntou Sellitto.
Ele e Sachs permaneciam lado a lado — mãos na cintura — olhando para baixo, em direção à sombria garagem sob o condomínio Belvedere.
— Bem ruim — resmungou ela. Deu uma olhada no diagrama ilustrativo dessa área. Passou o dedo sobre a área do estacionamento e pelo túnel de trem abandonado da New York Central Railroad.
— Tudo arruinado. Destruído. Todas as evidências.
Sellitto bateu os pés, supostamente para aquecê-los contra o frio penetrante do chão lamacento sobre o qual eles pisavam. Sachs fizera o mesmo; não ajudou. Só fez os pés doerem mais.
Sachs notou Bo Haumann por perto, falando ao telefone. O comandante da Unidade de Emergência desligou e andou a passos largos na direção deles. Acenou.
— Alguma coisa? — perguntou Sellitto.
O homem compacto e rijo, usando uma camisa de gola olímpica sob a camisa, aproximou-se. Passou a mão pelos cabelos grisalhos com corte militar.
Suas sobrancelhas estavam congeladas, mas parecia completamente alheio ao frio.
— Ele escapou. Fugiu de vez. Enviei uma equipe para avançar pelo túnel a partir do bueiro na rua. Mas mesmo isso foi inútil. Tudo o que puderam relatar foi “Nenhum vestígio”.
Sachs deu uma risada irônica.
— Nenhum vestígio. Nem dele nem no corpo da vítima.
As preocupações de Rhyme se provaram justificadas. Ao abrir a tubulação vertical do departamento de bombeiros, o Suspeito Cinco-Onze havia conseguido destruir a cena do crime com uma eficiência calculada.
Então ele escapara pela porta que havia usado para acessar o estacionamento, deixando-a aberta. Em minutos, o gêiser de água tinha inundado o térreo da garagem, formando uma cascata através da porta que levava ao túnel abaixo — que seria o local do crime.
Quando o assunto é contaminação de cena do crime, água pode ser pior que fogo. Muitos vestígios podem sobreviver às chamas e, mesmo que paredes cedam, a posição dos objetos, elementos de arquitetura e mesmo corpos humanos permanecem intocados nas cenas de crime. Entretanto, um alagamento é como uma grande tigela para mistura — não só dilui, destrói e homogeneíza como também desloca itens para longe de suas posições originais.
A água é, sublinhava Rhyme com frequência, o solvente universal.
Oficiais do Serviço de Emergência limparam a cena e levaram a vítima até o térreo. O homem estava dopado, mas consciente, e seus únicos ferimentos pareciam ser escoriações de quando a água o havia arremessado contra a parede. O suspeito não tivera tempo de começar a modificação. A vítima beirava a hipotermia, mas os médicos tiraram sua roupa encharcada e a cobriram com mantas térmicas.
Depois de resgatá-lo e limpar a cena, a polícia recuou enquanto dois bombeiros com traje completo contra riscos biológicos avançaram contra a corrente para fechar o registro. Recolheram amostras da água também.
Rhyme ficara preocupado com a possibilidade de o suspeito ter derramado alguma toxina na água que, mesmo diluída, pudesse causar danos ou matar.
Um oficial da Unidade de Emergência se aproximou deles.
— Detetives. Capitão.
— Diga lá — incentivou Haumann.
— A água está sendo drenada e o departamento de bombeiro instalou uma bomba-d’água. Mas ainda está muito alagado. Ah, e fizeram um teste preliminar na água e não há perigo biológico ou químico, nada significante em nível algum. Então estão bombeando a água para os ralos da rede de esgoto. Tudo deve estar terminado em uma hora.
O oficial disse a Sachs: — Disseram que acharam algo que você vai querer ver, detetive. Um dos bombeiros está saindo com ela agora.
— O quê? — perguntou Sachs.
— Só uma sacola plástica. É tudo o que sei.
Ela assentiu, já imaginando que isso não teria muito a ver com o caso.
Poderia conter uma casca de banana, um baseado, moedas para o parquímetro.
Apesar de sempre existir uma chance de ser a carteira do criminoso ou seu cartão de Seguridade Social.
Nada mais a se fazer por aqui. Sachs e Sellitto se dirigiram à ambulância. Entraram pelos fundos e fecharam a porta. Braden Alexander estava sentado usando um robe azul, tremendo. A ambulância era aquecida, mas o sujeito acabara de dar um mergulho em água quase congelada.
— Como você está se sentindo? — perguntou Sellitto.
Seu maxilar tremia.
— Com frio, um pouco grogue com seja lá o que o filho da puta me deu. Disseram que é propofol. — Ele gaguejava ao falar. Suas palavras também estavam enroladas. — E ver o cara, ver aquilo que ele estava usando, me assustou demais.
— Você consegue descrever o homem?
— Não muito bem. Ele tinha cerca de um metro e oitenta, em muito boa forma. Branco. Mas usava aquela máscara amarela de látex. Meu Deus. Fiquei apavorado. Quero dizer, eu realmente me apavorei. Já falei isso, não? Buracos para os olhos e para a boca. E só.
Sellitto lhe mostrou o retrato falado.
— Pode ser. Provável. Mas tinha a máscara, sabe?
— Sim. E as roupas?
— Quando ele me atacou na garagem, vestia um macacão, eu acho. Eu estava apavorado. — Mais tremores. — Mas eu já o tinha visto antes e estava usando outra roupa. Isso se fosse ele. Entrou naquele prédio ali.
Ah, talvez houvesse uma cena do crime intacta no fim das contas. Sachs enviou um perito para averiguar, junto do reforço do Serviço de Emergência.
— Ele falou alguma coisa? — perguntou Sellitto.
— Não. Só me furou com uma agulha. Então comecei a desmaiar. Mas eu o vi... — Sua voz fraquejou. — Eu o vi tirar um bisturi da mochila.
— Um bisturi? Não era só uma faca?
— Definitivamente era um bisturi. E ele parecia saber o que estava fazendo com aquilo nas mãos. Ah, e ele tocava minha pele. Minha barriga. Encostava e beliscava. Meu Deus. Por que isso?
— Ele já fez isso antes — explicou Sachs. — Não sabemos exatamente o porquê.
— Ah, mas eu me lembro de que, quando ele abaixou, a manga da camisa subiu, sabe. E vi que ele tinha uma tatuagem. Era esquisita. Uma centopeia, tenho certeza. Sim. Mas com um rosto, sabe?
— De que cor ela era? — perguntou Sellitto.
— Vermelha. Então, a próxima coisa que vi foi quando acordei, estava engasgando e havia policiais me arrastando para fora d’água. Estava com tanto, tanto frio. Cara. Era como se eu estivesse à deriva no oceano. É esse o cara que vem matando pessoas na cidade?
Às vezes se segurava a informação, às vezes se dava.
— É provável.
— Por que eu?
— Não estamos certos sobre a motivação dele. Você tem algum inimigo, qualquer pessoa que poderia fazer algo assim?
Sachs e Rhyme não haviam descartado por completo a teoria de que o suspeito estaria usando os aparentes assassinatos em série para encobrir o homicídio de uma vítima em específico, diluída no massacre geral do Suspeito Cinco-Onze.
— Eu trabalho com segurança de computadores e estive pensando que talvez tivesse impedido o hacker errado e ele quisesse me pegar — respondeu Alexander. — Achei que o cara que entrou no prédio, aquele que talvez estivesse me seguindo, pudesse ser um bandido contratado ou seja lá como vocês chamam isso. Mas não sei de ninguém em especial.
— Isso é improvável — disse Sellitto. — Achamos que as pessoas que ele captura são aleatórias.
Vítimas do acaso...
Pegaram as informações de contato de Alexander.
Sachs calçou luvas e coletou as algemas que foram removidas por um bombeiro, colocou-as num saco de coleta e preencheu o cartão da cadeia de custódia. Escreveu um lembrete para coletar as impressões digitais do médico que havia removido as algemas. Mas não tinha dúvida de que o cuidadoso suspeito não se tornaria relapso agora.
Eles saíram da ambulância e foram recebidos por um vento congelante.
Um perito forense se aproximou, o que ela enviara para averiguar o prédio ao lado — onde Alexander havia afirmado ter visto o homem que o perseguia entrar.
— Ninguém no prédio — disse o perito, um jovem magro e atlético usando óculos redondos. — E passamos pelo porão prestando bastante atenção. Nenhuma saída por ali, nenhum jeito de se chegar ao estacionamento.
— Ok, obrigada.
Dois bombeiros se aproximaram, seus equipamentos pingando. Um deles segurava um pequeno saco plástico pela borda. Ah, talvez fosse a evidência. Ela não estava preocupada com contaminação; os bombeiros usavam luvas de neoprene para riscos biológicos.
Ele os cumprimentou.
— Me disseram que vocês eram os peritos no comando.
— Correto — assentiu Sachs. — Como estão as coisas lá embaixo?
— Uma zona. Ainda com vinte centímetros de água. Cobrindo todo o andar. E o túnel sob o andar inferior? Está um lago também.
— O que encontraram? — perguntou, indicando o saco plástico.
— Encontramos isso encostado na parede perto de onde a vítima estava. Pode ser do suspeito ou não. Não havia mais nada.
Casca de banana, maconha, moedas...
Ela pegou a sacola com suas mãos enluvadas. Dentro havia pequenos fragmentos de metal de vários formatos com cerca de dois centímetros e meio. Peças de alguma coisa, imaginou Sachs. Mostrou-as a Sellitto, que não ligou muito. Ela enfiou aquilo dentro de um saco de evidências e anotou o nome do bombeiro no cartão da cadeia de custódia. Descreveu os detalhes e o fez assinar. Ela fez o mesmo.
— Quero descer lá — avisou Sachs a um dos bombeiros. — Pode me emprestar uma bota?
— É claro. Vamos providenciar o equipamento completo.
Outro bombeiro chegou com uma bandeja de papelão distribuindo café.
Sellitto pegou um, mas Sachs recusou. Não estava com apetite para nada no momento, exceto encontrar uma pista, qualquer uma, do Suspeito Cinco-Onze.
— São implantes.
TT Gordon, o artista tatuador todo decorado por super-heróis e com a região do queixo excessivamente estilosa, estava de volta à sala de estar de Rhyme.
Em pé diante da mesa de análises ao lado de Mel Cooper, ele observava aquilo que os bombeiros haviam coletado na cena do crime no estacionamento do condomínio Belvedere: pedaços de metal avulsos num saco plástico. Não eram peças de nada, tal como Sachs havia pensado originalmente, mas sim uma letra e dois números. Bordas em baixo-relevo foram limadas e algum tipo de substância esbranquiçada fora untada nas ranhuras.
Com dois centímetros e meio cada, estavam sobre uma almofada de teflon esterilizada.
— E o que são implantes? — perguntou Rhyme, aproximando-se com a cadeira de rodas.
O rapaz magrelo esfregou os dedos no rosto do Batman tatuado em seu braço fino. Rhyme pôde ver um pedaço de outro super-herói no outro braço. Por que esses dois personagens em particular?, pensou ele. Mas então: por que não?
— Implantes são um tipo extremo de modificação. Você abre fendas na pele e os enfia nelas. Por fim a pele retrocede e dá para ver a forma ou a letra que fica saltada. Não se encontram muitas dessas por aí. Mas tatuagens aparecem a torto e a direito, como eu disse ontem. Todo balconista, assistente de relações públicas e advogado tem uma tatuagem hoje em dia. É preciso implantes e escarificações para ser diferente. Sabe-se lá o que vai ser a moda daqui a dez anos. Na verdade, acho que não quero saber.
— E isso nos revela alguma coisa sobre o suspeito? — perguntou Sachs.
— Confirma o que eu falei antes. Isso é raro por aqui. Não conheço artista nenhum que faça esse tipo de mod na área. Tecnicamente, isso é, você sabe, um procedimento cirúrgico e é necessário ter um bom treinamento. Encontra-se muito disso no Meio-Oeste do país e nos Apalaches, West Virginia, nas montanhas da Carolina do Norte. Pessoas que querem levar uma vida mais alternativa. Quero dizer, mais alternativa que a minha — disse TT Gordon, o artista tatuador e gramático. — Dá para pensar que implantes são coisas de caras machões, mas na verdade são as mulheres que mais fazem. É realmente perigoso. São feitos de um material que não dá muita chance de rejeição, mas tem o problema da infecção. E, pior, as peças podem mudar de posição. E aí sim vai ter problemas.
— E você também vai ter problemas caso os implantes contenham doses altamente concentradas de nicotina — completou Mel Cooper, olhando para o computador ligado ao espectrômetro de massa/cromatógrafo a gás. — Que é o caso desses aqui.
— Nicotina — ponderou Rhyme.
— Isso é veneno? — perguntou Ron Pulaski.
— Se é — respondeu Cooper. — Trabalhei num caso há alguns anos.
Nicotina costumava ser usada como inseticida. Era possível comprá-la pura, concentrada. O criminoso, naquele caso, conseguiu um pouco. Ele queria despachar a mãe pelo dinheiro da herança e, já que ela fumava, achou que seria uma boa ideia rechear a comida dela com nicotina. Ela morreu cerca de meia hora depois. Se tivesse administrado gradualmente, em vez de apostar em uma única e grande dose, ele poderia ter saído impune dessa. Descobrimos que foi como se ela tivesse fumado oitocentos cigarros em uma hora e coberto o braço com adesivos de nicotina.
— Qual é a fórmula? — perguntou Rhyme.
— Um alcaloide parassimpaticomimético. Vem da família das ervas-mouras.
— Os implantes não parecem ser tão grandes — comentou Sachs. — Qual era a concentração da dosagem?
— Enorme — respondeu Cooper, observando atentamente a espectrometria de massa. — Se ele os tivesse implantado na derme, a vítima estaria morta dentro de vinte minutos, pela minha estimativa.
— Meu Deus do céu! — veio do homem dos super-heróis.
— Uma morte dolorosa? — indagou Sachs.
— Poderia ser — respondeu Rhyme, não muito interessado naquilo.
Preocupava-se mais com a origem. — Onde ele conseguiria os implantes?
Gordon deu de ombros.
— Não conheço nenhuma fonte por aqui. Na maioria das vezes, se alguém quer algum, compra on-line.
— Não — retrucou Rhyme. — Ele os compraria de uma loja de construção novamente. E pagaria em dinheiro.
Olhou para os pedaços de metal novamente. O que eles representavam era óbvio, refletiu Rhyme. Um simples rearranjo resultava em outro número. O número ordinal “17º”.
Sachs estava usando um protetor facial e duas luvas. Examinava um caractere metálico. O número 7.
— Temos marcas de ferramenta aqui. Característica de limagem. Já é algo.
Seria possível estabelecer uma ligação entre os implantes envenenados a uma lima de metal em posse do suspeito — contanto que encontrassem a lima, é claro; não havia nenhum registro nacional para marcas de ferramentas como acontecia com impressões digitais, DNA e canos de armas.
— Origem do veneno? — inquiriu Rhyme.
Sachs pesquisou on-line e relatou: — Bem, isso é interessante. Você conhece cigarros eletrônicos?
— Não.
— Cigarros sem tabaco. Eles têm baterias e cápsulas com sabor. Há um tipo de vapor que se inala. Pode-se comprar nicotina comercial, com e sem sabor, para adicionar às cápsulas. Vem na forma líquida. Chamam isso de “suco”.
O que as pessoas fazem com seus corpos?, refletiu Rhyme.
— Quantos pontos de origem?
— Algumas dezenas. — Mel Cooper examinou o computador. — O que está à venda no mercado é tóxico, sim, mas nada como isso aqui. O suspeito ou a destilou ou fez ele próprio.
— Ok, o que mais temos?
Sachs havia explicado que caminhar pela água do térreo do estacionamento e pelo túnel não dera em nada; o alagamento tinha sido extenso. Ainda assim, conseguiram encontrar alguma evidência na sacola e dentro dela, onde estavam os implantes.
A sacola era típica daquelas para armazenamento de comida (e não rastreável). Na parte de cima havia uma tira de plástico fosco para que o cozinheiro pudesse escrever o nome do item contido ali, ou a data na qual fora para o freezer. Apesar de a água ter apagado muito da caligrafia do suspeito, algumas letras fracas em rosa permaneciam. A mensagem era Número 3 — para o terceiro ataque, presumiu Rhyme.
— Não sei como isso pode ser útil — resmungou Rhyme. — Mas coloque no quadro-branco.
Cooper analisou várias outras amostras.
— Aqui tem uma combinação de albumina humana com cloreto de sódio; as porcentagens são consistentes com as drogas utilizadas em procedimentos de cirurgias plásticas.
— Ah, de novo isso — disse Rhyme. — Nosso criminoso tem em mente mudar a aparência. Mas ainda não consigo enxergá-lo fazendo cirurgias. Ele está muito ocupado. Mas isso é parte do plano dele.
Lon Sellitto ligou para Rhyme. Ele havia permanecido no Belvedere para fazer uma varredura na área em busca de testemunhas.
— Linc, ninguém viu nada. Você sabe o que está acontecendo, não sabe?
— Esclareça.
— As pessoas sabem que esse cara anda usando o subterrâneo para se aproximar das vítimas. Estão com medo de que, se disserem que viram qualquer coisa, ele vá pegá-las em seus banheiros, lavanderias, quartos ou garagens.
Rhyme não conseguia argumentar com aquilo. O que poderia ser mais assustador que achar que se está lá, sozinho e seguro nos andares inferiores de seu escritório ou prédio público, e perceber que, na verdade, não estava sozinho coisa nenhuma; estava com um acompanhante letal?
Como uma centopeia venenosa sob as cobertas de sua cama enquanto dormia.
Sachs também trouxera as roupas de Alexander. Cooper analisou cada um dos itens meticulosamente, mas a água erradicara todos os vestígios — isso se houvesse algum em primeiro lugar, o que era improvável, comentou Sachs, pois o contato entre os dois homens fora mínimo. As algemas não revelaram vestígio algum e, tal como as outras, eram genéricas.
Cooper analisou outras amostras de raspagens feitas na sacola com os implantes. A maioria retornou negativa. Mas, por fim, tivera um sucesso.
Lendo o texto do monitor, ele disse: — Ácido hipocloroso.
Rhyme observou a espectrometria de massa.
— Curioso. Está puro. Não diluído.
— Certo. — Cooper colocou a mão por dentro de seu protetor facial e ajustou os óculos um pouco para cima no nariz. Rhyme se questionava, como costumava fazer, por que ele não comprava armações que servissem direito.
O ácido hipocloroso — um tipo de cloro — era adicionado ao sistema de abastecimento de água potável de Nova York, tal como na maioria das cidades, para que a purificasse. No entanto, por estar tão concentrada, a amostra não poderia ser do alagamento que havia destruído a cena do crime no estacionamento do Belvedere. Essa era a forma do produto químico em seu estado puro, antes de ser adicionado ao sistema de abastecimento de água.
— Isso é um ácido fraco. Entretanto, acredito que em níveis mais altos pode ser mortal — ponderou Rhyme. — Ou talvez ele apenas tenha sido pego na nossa análise porque havia uma caixa que despeja essa substância na água perto da cena. Sachs, na primeira e na segunda cena de crime, nos túneis, havia encanamentos de água, certo?
— Água e, em uma delas, esgoto.
— Entrada e saída — brincou Pulaski, arrancando risos de todos, menos de Rhyme.
— Algum outro encanamento, talvez um que injete cloro nos canos principais?
— Não me lembro.
— Quero descobrir isso. Se esse cloro vem da purificação de água de torneira, então não ajuda em nada. Se vier do veneno que o suspeito está planejando usar, então podemos começar a checar as fontes. — Rhyme abriu na tela as fotos das duas primeiras cenas do crime. — Vamos mandar alguém de volta aos locais e verificar se há um cano de alimentação de cloro.
— Você quer que a perícia faça a busca? — perguntou Sachs.
— Não, um policial comum já está bom — respondeu Rhyme. — Qualquer um. Mas que seja logo. Agora.
Sachs ligou para a central, que enviou veículos a cada uma das cenas anteriores com instruções sobre o que deveriam procurar.
Vinte minutos depois o telefone de Sachs tocou. Ela atendeu, então ligou o viva-voz.
— Ok, oficial, você está na linha comigo e com Lincoln Rhyme.
— Estou na cena do crime na Elizabeth Street, detetive. O homicídio de Chloe Moore.
— Onde exatamente você está? — perguntou Rhyme.
— Estou no túnel, perto da iluminação da cena do crime e das baterias.
— Preciso que você procure por qualquer cano ou reservatório marcado com “ácido hipocloroso”, “cloro” ou com as letras “Cl” — falou Rhyme. — Eles devem ter um aviso de perigo em formato de diamante e provavelmente um alerta sobre irritação da pele e dos olhos.
— Sim, senhor. Farei isso.
O patrulheiro continuou falando enquanto andava do lugar onde o corpo havia sido encontrado, perto do túnel claustrofóbico, até a parede fechada com tijolos a noventa metros de distância.
— Nada, senhor — declarou, por fim. — As únicas marcas são DS e DPA estampados nos canos. — Departamento de Saneamento e Departamento de Proteção Ambiental, que era a agência supervisora do abastecimento de água em Nova York. — E umas caixas marcadas com RIFO. Não sei o que significam. Mas nada sobre produtos químicos.
Sachs agradeceu e desligou.
Logo depois, um integrante da outra equipe ligou do subsolo da cena do crime no Provence² — o abatedouro octogonal, onde Samantha Levine morrera.
O policial repetiu o mesmo relato. Nenhum sistema de encanamento do DPA que despejasse ácido hipocloroso dentro do sistema de água.
Depois de desligar, Rhyme disse: — Então, a substância provavelmente possui alguma ligação com o suspeito. Vamos descobrir onde alguém compraria isso, ou como é feito.
Ron?
Mas uma pesquisa revelou o que Rhyme já suspeitava: havia dezenas de empresas de suprimentos químicos na região metropolitana de Nova York.
E o suspeito deveria ter comprado uma quantidade pequena, portanto, pagou em dinheiro. Deve ter roubado uma lata ou duas. Uma pista inútil.
Rhyme avançou com sua cadeira de rodas até a mesa de análise, examinando com atenção os implantes, e com sua mente considerando as implicações dos números.
1 7 o
— Temos “o segundo”, “quarenta” e “17º”. O que ele está dizendo? — Rhyme balançou a cabeça. — Ainda gosto da ideia de que talvez ele esteja nos mandando para algum local. Mas para onde?
— Nenhuma borda em formato de concha, como foi com as outras — comentou Sachs.
— Aquilo foi escarificação, lembra? — salientou TT Gordon. — Se ele fosse incluí-las, teria usado o mesmo bisturi que usou para fazer as incisões para os implantes. Teria feito isso mais tarde, depois de já ter inserido o implante. Pelo que entendi, parece que vocês o interromperam antes que ele pudesse terminar.
— Bem, ele fugiu antes de poder fazer muita coisa — resmungou Sachs.
— Nenhum “o” antes de “décimo sétimo” — acrescentou Pulaski.
— Talvez seja assim mesmo a citação, seja lá qual for.
— Implantes levam tempo para fazer também — observou Gordon.
— Verdade. Ele queria ir rápido com as coisas. — Rhyme assentiu para o tatuador. — “O” talvez fosse demais.
Os olhares de todos permaneciam nos números.
O que era a mensagem do suspeito? O que ele possivelmente estaria querendo dizer a nós, à cidade e ao mundo?
Se seu exemplo fosse o Colecionador de Ossos, como tudo indicava, a mensagem provavelmente seria sobre vingança. Mas para quê? O que “o segundo”, “quarenta” e, agora, “17º” diziam sobre um suposto erro que ele quisesse ver absolvido?
O fato de eles também poderem chamar o Suspeito Cinco-Onze de Colecionador de Peles não era o suficiente para Rhyme. Havia nele um propósito que ia além de deixar um legado de um assassino psicótico perseguindo pessoas pelas ruas de Nova York fazia mais de uma década.
TT Gordon quebrou o silêncio: — Precisam de mais alguma coisa de mim?
— Não — respondeu Rhyme. — Obrigado por sua ajuda. Apreciamos muito.
Isso fez Amelia erguer a sobrancelha. Cordialidade não era uma qualidade típica de Lincoln Rhyme. Mas ele descobriu que andava gostando da companhia desse jovem com pelos faciais extravagantes e conhecimento da gramática normativa.
Gordon vestiu o paletó. Rhyme novamente ponderou que aquilo parecia muito leve para um sujeito tão magro num dia tão cinza e traiçoeiro como hoje.
— Boa sorte. — Ele parou diante de Rhyme e o examinou. — Ei, você parece um de nós, cara.
Rhyme olhou para cima.
— Nós quem?
— Você é modificado.
— Como assim?
Gordon apontou para o braço de Rhyme, onde cicatrizes das cirurgias para recuperar os movimentos do braço e da mão direita eram proeminentes.
— Essas cicatrizes parecem o monte Everest. De cabeça para baixo para você.
Verdade, curiosamente, o padrão triangular parecia mesmo a famosa montanha.
— Se quiser que eu preencha isso aí, me avisa. Ou eu poderia fazer outra coisa. Ah, cara, já sei. Eu poderia acrescentar um pássaro. — Indicou a janela com a cabeça. — Um daqueles falcões ou seja lá o que forem. Voando sobre as montanhas.
Rhyme riu. Que ideia louca. Mas então seus olhos vagaram até os falcões-peregrinos. Havia sim algo de intrigante na ideia.
— Trauma na pele é contraindicado para alguém nas condições dele. — Thom estava na porta, de braços cruzados.
Gordon assentiu.
— Acho que isso quer dizer não.
— Não.
Ele olhou ao redor pelo cômodo.
— Bem, alguém mais quer?
— Minha mãe me mataria — disse o quarentão Mel Cooper.
— Minha esposa — disse Pulaski.
Amelia Sachs apenas balançou negativamente a cabeça.
— Vou ficar só com a que já tenho — falou Thom.
— O quê? — perguntou Sachs, rindo. Mas o ajudante não disse mais nada.
— Ok, mas vocês têm meu telefone. Boa sorte, gente.
Então o rapaz foi embora.
A equipe olhava para as imagens das tatuagens outra vez. Lon Sellitto não estava atendendo, então Sachs ligou para o Departamento de Casos Especiais e fez com que a equipe na central acrescentasse “17º” à lista de números que procurava.
Logo após desligar, o telefone vibrou novamente e Sachs atendeu.
Rhyme a viu se enrijecer imediatamente. Ela perguntou de pronto: — O quê? Tem alguém a caminho?
Apertou com força o botão de desligar e olhou para Rhyme, com os olhos arregalados.
— Era um sargento da 84ª Delegacia. Um vizinho acabou de ligar para a emergência, um invasor no apartamento de Pam. Homem branco com gorro de lã e casaco cinza curto. Parecia estar usando uma máscara.
Amarela. Meu Deus.
Sachs abriu o telefone e apertou o botão de discagem rápida.
Atende!
Por favor, atende! Sachs segurou o celular com força e estremeceu de tanta raiva e desamparo quando a voz da caixa postal de Pam soou.
— Se você estiver em casa, Pam, saia daí! Agora! Vá para a 84ª
Delegacia. Gold Street. Acho que o criminoso do nosso caso atual está aí.
Seus olhos se cruzaram com os de Rhyme, o rosto dele igualmente perturbado, então ela apertou com força o botão de rediscagem.
— Ela está no trabalho? — perguntou Rhyme. — Ou na faculdade?
— Não sei. Ela trabalha em horários malucos. E neste semestre a aula é de meio período.
— Uma viatura deve chegar lá em sete, oito minutos — avisou Ron Pulaski.
Mas a pergunta é: seria tarde demais?
O zumbido oco do telefone preencheu o alto-falante.
Maldição. Caixa postal de novo.
Não, não...
— Sachs...
Ela ignorou Rhyme e apertou novamente o botão de rediscagem. Por que eles não puseram Pam sob proteção integral? A verdade é que eles presumiram que os alvos do suspeito — tal como o Colecionador de Ossos — eram aleatórios, e o Colecionador de Peles certamente nem mesmo sabia que Pam existia, mas agora, é claro, ele decidira transformar em alvo não apenas aqueles que o rastreavam mas também seus amigos e familiares.
Não era impossível descobrir o relacionamento de Pam com Rhyme e Sachs. Por que...
Clique.
— Amelia — disse Pam, ofegante. — Recebi sua mensagem. Mas não estou em casa. Estou no trabalho.
Sachs baixou a cabeça. Obrigada, obrigada...
— Mas Seth está lá! Ele está em casa agora. Está me esperando. Vamos sair mais tarde. Amelia, o que... o que devemos fazer?
Sachs pegou o celular de Seth e ordenou a Pulaski: — Ligue para o Seth! — exclamou, gritando o número do telefone do outro lado da sala. O jovem policial discou rápido.
— As portas estão trancadas, Pam?
— Sim, mas... Ai, Amelia. A polícia está lá?
— Está a caminho. Fique onde está. E...
— Ficar onde estou? Estou indo para casa. Estou indo para lá agora.
— Não. Não faz isso.
A voz de Pam estava embargada, acusatória.
— Por que ele está fazendo isso? Por que está logo no meu apartamento?
— Fique onde você...
A garota desligou.
— Está chamando. — A expressão de Pulaski mudou na hora.
— Viva-voz — grunhiu Rhyme.
O jovem policial apertou o botão. A voz de Seth surgiu na linha.
— Alô?
— Seth, aqui é Lincoln Rhyme.
— Opa, como...?
— Me escuta com atenção. Saia daí. Alguém está invadindo o apartamento. Saia agora!
— Aqui? Como assim? A Pam está bem?
— Ela está bem. A polícia está chegando aí, mas você precisa sair. Pare o que estiver fazendo e saia. Saia pela porta da frente e vá até a 84ª Delegacia.
Fica na Gold Street. Ou, pelo menos, vá até alguma área cheia de gente.
Ligue para mim ou para Amelia o mais rápido...
As palavras seguintes de Seth foram emudecidas, como se ele estivesse se virando e o telefone não estivesse mais perto da boca.
— Ei!
Podia se ouvir um som como o de vidro quebrando e outra voz, a de um homem:
— Você. Abaixe o telefone.
— Quem é voc...?
Em seguida vários sons secos de batidas. Seth gritou.
E a ligação caiu.
Os carros do esquadrão tático chegaram ao apartamento de Pam antes de Amelia.
Mas não muito antes.
Sachs mantivera a marcha de seu Torino reduzida, o giro do motor alto e os pés quase sempre longe do freio enquanto acelerava até Brooklyn Heights. Sidney Place, uma rua estreita que dava em uma rodovia estadual rumo ao norte, mão única, mas isso não impediu Sachs de jogar seu Ford na contramão, forçando vários carros a subir na calçada espremendo-se em busca de proteção entre as várias árvores. Um motorista idoso agitado tirou tinta da escadaria da Igreja de São Carlos Borromeu, uma construção alta e vermelha, como um caminhão de bombeiros.
O prédio do apartamento de Pam estava em pior estado que a maioria, um edifício de três andares sem elevador, um dos poucos ainda cinza numa vizinhança de pedras carmesim. Sachs avistou o semicírculo formado por veículos da polícia e uma ambulância. Enfiou a mão na buzina — não havia sirene no Torino — e conseguiu abrir passagem pela multidão de curiosos que esticavam o pescoço para tentar ver algo, então desistiu e estacionou.
Correu até a entrada, reparando que a porta da ambulância estava aberta, mas que nenhum paramédico do Serviço de Emergência estava por perto.
Péssimo sinal. Eles estariam tentando salvar Seth desesperadamente?
Ou ele estava morto?
No hall de entrada do apartamento de Pam, um policial atarracado viu o distintivo no cinto de Sachs, acenou com a cabeça e a deixou passar.
— Como ele está? — perguntou ela.
— Não sei. Está uma zona.
O telefone de Sachs tocou. Ela viu o identificador de chamadas. Pam.
Sachs refletiu, mas deixou tocando. Ainda não tinha nada para contar a Pam.
Terei em poucos minutos, pensou ela. Então imaginou qual exatamente seria a mensagem.
Uma zona...
Pam morava no térreo, em um espaço pequeno e escuro com cerca de cinquenta metros quadrados, cuja semelhança com uma cela de prisão era reforçada pelas paredes de tijolos expostos e janelas pequeninas. Era o preço que se pagava para viver numa vizinhança pomposa como os Heights, o centro da cidade praticamente autônoma que era o Brooklyn.
Sachs entrou e viu dois policiais.
— Detetive Sachs — saudou um, apesar de ela não o ter reconhecido. — Você está no comando da cena? Já limpamos tudo. Tínhamos que ter certez...
— Cadê ele? — Ela olhou atrás do policial, mas então percebeu que o Homem do Subterrâneo teria levado Seth ao porão, é claro.
O policial confirmou que ele estava no porão.
— Os paramédicos e dois detetives da 84ª Delegacia. — Ele balançou a cabeça. — Estão fazendo tudo o que podem. Mas...
Sachs afastou o cabelo dos ombros. Queria tê-los prendido ainda lá fora.
Sem tempo para isso antes nem agora. Virou-se e seguiu pelo corredor que cheirava a cebola, mofo e algum produto de limpeza forte. Aquilo revirou seu estômago. Ela se viu andando mais devagar. Ver sangue ou tripas não a incomodava; ninguém se candidata a trabalhar com perícia forense caso se sinta perturbado com isso. Mas a ideia de ter de realizar uma ligação triste para Pam acabava com seu humor.
Ou, visto que as armas escolhidas pelo criminoso eram sempre toxinas, mesmo um ferimento não fatal poderia ser devastador: cegueira, danos cerebrais ou nevrálgicos, falência renal.
Encontrou a porta do porão e começou a descer pela escada precária.
Acima da cabeça, bulbos de lâmpadas iluminavam o caminho, brilhando. O porão ficava bem fundo no subsolo, com janelas cheias de graxa à altura do chão. O espaço, com odor adstringente de combustível para forno e bolor, era amplo, mas havia áreas menores em recuos sem porta; talvez um dia tenham sido depósitos. Fora para o interior de um desses lugares que o criminoso havia arrastado Seth. Sachs conseguia ver as costas de um dos detetives e de um dos policiais na sala, ambos olhando para baixo.
Seu coração disparou ao notar que um paramédico também permanecia de pé, com os braços cruzados fora da passagem, olhando para dentro dela.
O rosto dele, uma máscara.
Ele olhou para Sachs inexpressivo e a cumprimentou com um movimento de cabeça, então se virou para o espaço de depósito.
Alarmada, Sachs avançou, observou e parou.
Seth McGuinn, sem camisa, deitado no chão sujo, as mãos sob o corpo — provavelmente algemado como as outras vítimas. Os olhos dele estavam fechados e seu rosto tão cinza quanto a tinta ancestral das velhas paredes do porão.
— Amelia. Eles não sabem — disse um dos policiais de uniforme parado em pé ao lado de Seth. Seu nome era Flaherty e ela conhecia esse oficial grande e ruivo da 84ª Delegacia.
Outros dois paramédicos cuidavam de Seth, limpando suas vias aéreas, verificando seus sinais vitais. Sachs via nos monitores portáteis que ao menos o coração estava batendo, ainda que fraco.
— O criminoso o tatuou? — Ela não conseguia ver o abdômen de Seth dali.
— Não — respondeu Flaherty.
— Pode ser propofol — comentou Sachs com os paramédicos. — É isso que ele tem usado. Para apagá-los.
— Um sedativo é consistente com a atual condição dele. Ele não está tendo convulsões ou reações gastrointestinais, e os sinais vitais permanecem estáveis, então eu diria que não é uma toxina.
Sachs se moveu para o lado e reparou em uma marca avermelhada no pescoço de Seth — onde o Cinco-Onze tinha aplicado a injeção hipodérmica.
— Ali. Está vendo o local da injeção?
— Certo.
— Ele fez isso em todos os casos anteriores. Ele está...
Um murmúrio. Tremendo, repentinamente, Seth abriu os olhos. Piscou, confuso. A consternação tomou conta de seu rosto; primeiro ele deveria estar tentando entender o que aconteceu e depois relembrando como acabara ali.
— Eu... O que está acontec...?
— Está tudo bem, senhor — disse um dos médicos.
— Você está bem; está a salvo — falou Flaherty.
— Amelia! — exclamou com urgência, mas grogue.
— Como está se sentindo?
— Ele me envenenou?
— Parece que não.
Um dos médicos fez uma série de perguntas sobre possíveis sintomas.
Eles anotaram as respostas do jovem.
— Ok, senhor — disse o paramédico. — Vamos examinar seu sangue no laboratório, mas tudo indica que ele apenas aplicou um pouco de sedativo em você. Vamos levar o senhor até o pronto--socorro e fazer mais alguns exames, mas acho que está bem.
— Posso fazer algumas perguntas a ele? — quis saber Sachs.
— É claro.
Sachs calçou as luvas, ajudou Seth a se sentar e removeu as algemas.
Estremecendo, o jovem baixou os braços e esfregou os pulsos.
— Cara, isso dói.
— Você consegue andar? — A cena ali embaixo já estava bastante contaminada, mas ela queria preservar o local o máximo que pudesse. — Queria levar você até lá em cima pelo corredor.
— Acho que sim. Talvez com um pouco de ajuda.
Ela o ajudou a se levantar. Com o braço de Sachs em volta de sua cintura, Seth caminhou cambaleante pelo porão até as escadas. No hall de entrada, sentaram-se na escada que dava para o segundo andar.
A porta de entrada novamente se abriu, e Sachs cumprimentou o grupo de peritos do Queens. Uma das detetives investigando a cena era uma jovem e atraente policial chamada Cheyenne Edwards, uma das estrelas do departamento. Sua especialidade era análise química. Se um criminoso carregasse em seu corpo uma única molécula de uma substância controlada ou de resíduo de pólvora, Edwards a encontraria. Ela também tinha certa fama como policial, por sua excelência no trabalho.
E por não ser uma boa ideia se meter com ela.
Certa vez, Edwards e seu parceiro entraram em confronto com um criminoso que retornara à cena do crime para coletar os espólios que havia esquecido. O assassino, ao ser surpreendido pelos policiais, apontara a arma primeiro para o perito mais velho, de ombros largos, presumindo que a pequena e jovem mulher fosse uma ameaça menor — até descobrir do pior jeito que não era bem esse o caso. Edwards enfiara as mãos no bolso onde ficava sua arma reserva, uma Taurus .38, e atirara dali mesmo, sob o tecido, enfiando três azeitonas no peito dele. (“Parece que acabamos de solucionar o caso”, comentara ela em seguida, e continuou a analisar a cena metodicamente, porque é isso que se deve fazer.) — Chey, você investiga a cena, ok? — pediu Sachs.
— Pode deixar.
Então falou para Seth: — Então, me conte o que aconteceu.
O rapaz contou a Sachs sobre o ataque inicial, o qual eles ouviram um pouco pelo telefone. Um homem usando máscara e luvas arrombara a porta do átrio e avançou rapidamente pela sala de estar. Eles brigaram, mas, ao passar o braço pelo peito de Seth, o criminoso enfiara uma agulha em seu pescoço. Seth desmaiou e voltou a si no porão. O homem estava retirando uma máquina de tatuagem portátil de dentro de uma mochila.
Sachs mostrou a foto de uma máquina de tatuagem American Eagle.
— Sim, a dele parece essa aí. Ele ficou puto porque eu acordei e me deu outra injeção. Mas aí de repente ele parou. Meio que ficou alerta com alguma coisa. Vi que estava com um fone no ouvido. Foi como se alguém o tivesse alertado.
Sachs franziu o cenho.
— Não há evidências de que ele esteja trabalhando com outra pessoa.
Provavelmente era um interceptador de frequência de rádio da polícia.
Tudo por apenas US$59,99. E, se você comprar agora, recebe também uma lista das frequências do seu Departamento de Polícia favorito.
— Então ele jogou todas as coisas na mochila e correu. Eu desmaiei de novo.
Ela pediu uma descrição e ouviu o que esperava.
— Homem branco, por volta dos 30, eu diria. Do que deu para ver do cabelo, era escuro, rosto redondo. Olhos claros. Azuis ou verdes. Meio estranha aquela cor. Mas não consegui ver muito de qualquer forma. Ele estava com aquela máscara transparente meio amarelada. — Sua voz estava baixa. — Me assustou pra caramba. E a tatuagem dele. No... Sim, no braço esquerdo. Vermelha. Uma cobra com pernas.
— Uma centopeia?
— Pode ser. Rosto humano. Bem assustadora. — Ele fechou os olhos brevemente e estremeceu bastante.
Sachs mostrou o retrato falado que a quase vítima Harriet Stanton havia fornecido no hospital. Seth deu uma olhada, mas apenas balançou a cabeça.
— Pode ser, o rosto era redondo assim. Os olhos são os mesmos. Mas não dá para ter certeza. Estou tentando lembrar o que ele vestia. Não consigo mesmo lembrar. Algo escuro, eu acho. Mas poderia ser até mesmo um tom laranja psicodélico. Eu fiquei realmente em pânico ao ver aquela máscara e aquela tatuagem.
— Por que será? — ironizou Sachs com um sorriso.
— É melhor eu ligar para os meus pais. Eles podem ficar sabendo disso tudo. Quero dizer a eles que estou bem.
— Claro.
Enquanto Seth fazia isso, digitando com mãos trêmulas, Sachs ligou para Rhyme. Deu a ele os detalhes.
— Cheyenne está analisando a cena.
— Bom.
— Ela vai enviar tudo para você em meia hora.
Ele desligou.
Seth encolheu os ombros de dor quando pressionou o pulso esquerdo enfaixado, que suportara todo o seu peso e havia sido ferido pelas algemas.
— O que ele quer, Amelia? Por que ele está fazendo isso?
— Não temos certeza. Parece que ele se inspirou num criminoso que eu e Lincoln investigamos há alguns anos. No primeiro caso em que trabalhamos juntos.
— Ah, Pam me contou sobre isso. O Colecionador de Ossos, certo?
— Esse mesmo.
— Serial killer?
— Tecnicamente, não. Assassinato em série é um crime sadossexual, se o criminoso for homem. O criminoso que capturamos há dez anos tinha outra agenda, assim como esse. O primeiro assassino era obcecado por ossos; nosso suspeito, por pele. Como o impedimos algumas vezes, ele voltou sua atenção para a gente. Deve ter descoberto que Pam e eu éramos próximas e foi atrás dela. Você teve o azar de estar aqui na hora errada.
— Antes eu que ela. Eu...
— Seth!
A porta do prédio foi escancarada, e Pam, já sem fôlego depois de correr desde o metrô, entrou na sala. Ela se jogou nos braços de Seth antes que ele conseguisse se levantar totalmente. Ele cambaleou e quase caiu.
— Você está bem?
— Sim, eu acho — murmurou. — Com algumas escoriações e um pouco dolorido.
Seth a encarou com uma expressão vazia e desconfiada. Era como se ele estivesse lutando consigo mesmo para não a culpar pelo ataque. Pam percebeu isso e franziu o cenho. Ela enxugou as lágrimas e então afastou alguns fios de cabelo grudados em suas bochechas rosadas.
Sachs passou o braço pelo ombro da garota e sentiu a tensão no ar. Ela recuou.
— O que houve? — indagou Pam.
A detetive explicou sem poupar detalhes. Devido à vida difícil que Pam tivera, ela não era o tipo de pessoa com quem era preciso medir palavras para dar uma notícia.
Ainda assim, sua expressão rígida parecia se tornar acusatória ao escutar a história, como se fosse culpa de Sachs o assassino ter vindo até aqui. Sachs afundou a unha do indicador no polegar com força.
Cheyenne Edwards apareceu na porta, ainda de macacão, mas sem o protetor facial ou a touca médica. Trazia consigo uma caixa de papelão contendo mais de dez sacos plásticos e papéis.
— Chey, qual seu parecer?
A perita franziu a testa e disse para Sachs: — Você realmente precisava salvar a vida dele? Quero dizer, não dava para enfiar mais gente naquela despensa? Uma das cenas de crime mais contaminadas que já vi. — Ela riu, então piscou para o rapaz. — Posso passar o rolo em você?
— Passar o rolo em...?
— O criminoso encostou em você, certo?
— Isso, me agarrou pelo peito quando inseriu aquela merda de agulha em mim.
Edwards pegou um rolo adesivo e coletou vestígios de todos os cantos da camisa que Seth indicava. Ela ensacou as tiras adesivas e se direcionou para a van da perícia, dizendo: — Vou levar essas coisas para Lincoln.
— Você não pode ficar aqui — avisou Sachs a Pam. — Acho que deveria se mudar para o seu quarto na casa de Lincoln. Vamos deixar policiais aqui enquanto você junta o que precisar.
A jovem olhou para Seth, e a pergunta implícita que pairava ali era: eu poderia ficar com você, não?
Ele não disse nada.
— E, Seth, talvez você devesse ficar na casa de algum amigo ou da sua família — sugeriu Sachs. — Ele pode saber seu endereço. Você é uma testemunha, e isso significa que está correndo risco. — Isso era puramente prático e não um complô para separar Romeu de Julieta. Pam, no entanto, lançou um olhar para Sachs que dizia: “Eu sei o que você está tramando.”
Seth não olhava na direção de Pam quando disse: — Tem uns dois caras que eu conheço da agência. Eles têm um apê em Chelsea. Posso dormir lá. — Sachs podia ver que ele não estava escondendo muito bem que culpava Pam pelo incidente.
— Espero que não precise ser por muito tempo. E você vem para a casa de Lincoln? — perguntou ela a Pam.
Os olhos dela fitaram Seth com desânimo.
— Acho que vou ficar com a minha família — disse Pam baixinho, referindo-se à família adotiva que a havia criado, os Olivetti.
Uma boa escolha. Mas de qualquer forma Sachs foi tomada pelo ciúme.
Pela sutil reprovação. E pela claramente insensível escolha de palavras.
Minha família.
A qual não inclui você.
— Levo você lá — disse Sachs.
— Ou a gente poderia pegar o metrô — sugeriu Pam, olhando de relance para Seth.
— Eles querem que eu passe no hospital — avisou ele. — Para fazer uns exames, eu acho. Depois de lá vou sair com o pessoal lá no centro.
— Bem, eu poderia ir com você. Para o hospital pelo menos.
— Não, é que depois disso... eu meio que quero dar uma relaxada. Ficar um tempo sozinho, sabe?
— Beleza. Eu acho. Se é o que você quer.
Ele se levantou e caminhou até o apartamento, pegou sua jaqueta e a maleta do computador, então retornou. Deu um abraço em Pam, de um jeito fraternal, vestiu a jaqueta e pegou a maleta, então se juntou aos paramédicos do lado de fora, que o ajudaram a entrar na ambulância.
— Pam...
— Nem uma palavra. Não fala nada — disse a jovem rispidamente.
Ela pegou o celular e ligou para a “família”, pedindo que fossem buscá-la. Entrou no apartamento. Sachs pediu a um policial de patrulha que ficasse de olho em Pam até os Olivetti chegarem. Ele concordou.
Então seu telefone vibrou. Olhou para o identificador de chamadas e atendeu, falando com Lincoln Rhyme: — Terminei aqui. Vou...
A voz embargada do perito forense a interrompeu.
— Ele fez outra vítima, Sachs.
Ah, não.
— Quem?
— Lon Sellitto.
Lincoln Rhyme percebeu que não encontraria problema algum em chegar à unidade de tratamento intensivo do Centro Médico da Universidade Hunter, onde Lon Sellitto havia sido internado fazia pouco tempo. O lugar era completamente acessível para pessoas com necessidades especiais, é claro. Hospitais são construídos tanto para rodas quanto para pés.
— Ah, Lincoln, Amelia. — Rachel Parker, namorada de Sellitto de muitos anos, levantou-se e apertou a mão de Rhyme e deu um abraço em Sachs. Virou-se para Thom e o envolveu num abraço também.
A mulher bonita e firme, que estava com o rosto vermelho de tanto chorar, recostou-se em uma das cadeiras em tom laranja de fibra de vidro espalhadas pela sala de espera decadente. Duas máquinas de venda, uma de refrigerante e outra cheia de guloseimas doces e salgadas em embalagens de celofane, eram a única decoração.
— Como ele está? — perguntou Sachs.
— Eles não sabem ainda. Não sabem de nada. — Rachel enxugou mais lágrimas. — Ele veio para casa. Disse que estava gripado e que só queria se deitar um pouco. Quando eu estava saindo para o meu turno notei que ele não estava com uma cara boa. Saí, mas então pensei: não, não, ele não está gripado. É outra coisa. — Rachel era enfermeira e havia trabalhado em unidades de trauma por muitos anos. — Voltei e o encontrei tendo uma convulsão e vomitando. Limpei as vias aéreas e liguei para a emergência. O paramédico disse que parecia um envenenamento O que ele teria comido ou bebido recentemente? Eles achavam que era um caso de intoxicação alimentar. Mas não havia a menor possibilidade. Vocês deviam ter visto como ele estava.
— Sachs, dê uma carteirada. Diga a alguém que Lon estava trabalhando em um caso envolvendo cicuta, tetrodotoxina, nicotina concentrada e uma planta que contém atropina, hiosciamina e escopolamina. Ah, e ácido hipocloroso também. Isso pode ajudá-los.
Ela anotou tudo isso e foi até a recepção, repassou a informação e retornou.
— Ele foi atacado? Tatuado? — perguntou Rhyme. Em seguida explicou o modus operandi do suspeito.
— Não. Ele deve ter ingerido a substância — comentou Rachel. Ela passou a mão por seu cabelo castanho, levemente grisalho. — No caminho até o hospital ele voltou a ficar consciente por algum tempo. Estava bastante desorientado, mas olhou para mim e pareceu me reconhecer. Os olhos ficavam entrando e saindo de foco. A dor era terrível! Acho que ele quebrou um dente, sua mandíbula estava tão retesada. — Um suspiro. — Ele disse umas coisas. Primeiro que tinha comido um bagel com um pouco de salmão e cream cheese . Em uma padaria em Manhattan, no centro.
— É pouco provável que o suspeito conseguisse envenenar a comida de um estabelecimento público — comentou Rhyme.
— Pensei nisso também. Mas ele disse mais uma coisa.
— O quê? — perguntou Sachs.
— Ele disse seu nome, Amelia. E então “café”. Ou “o café”. Isso significa alguma coisa?
— Café. — Sachs franziu a testa. — Com certeza significa. Na cena do crime no condomínio Belvedere tinha um bombeiro andando com uma bandeja cheia de copos de café. Ele ofereceu para nós dois. Lon pegou um.
Eu não.
— Bombeiro? — questionou Rhyme.
— Não — retrucou Sachs com firmeza. — Era o Cinco-Onze usando um uniforme de bombeiro. Que merda! Ele estava bem na nossa frente. Claro que era ele lá. Lembro que ele estava usando luvas quando ofereceu o café.
Meu Deus. Estava a meio metro de mim. E usava uma máscara de proteção.
Naturalmente.
— Com licença. — Uma voz atrás deles.
O médico indiano era magro, com uma compleição pálida e mãos inquietas. Ele hesitou ao notar a pistola no quadril direito de Sachs, mas relaxou ao ver o distintivo dourado no esquerdo. A cadeira de rodas de Rhyme recebeu um olhar de relance desinteressado.
— Senhora Sellitto?
Rachel deu um passo à frente.
— É Parker. Senhorita. Sou namorada de Lon.
— Meu nome é Shree Harandi. Toxicologista-chefe do hospital.
— Por favor, me diga como ele está.
— Sim, bem, estável. Mas a condição dele não é boa, devo lhe dizer. A substância que ele ingeriu foi arsênico.
A expressão de Rachel foi tomada por consternação. Sachs passou um braço pelo ombro da mulher.
Arsênico é um elemento químico, um metaloide, o que significa que possui as características de metais e de não metais, tal como o antimônio e o boro. E, é claro, extremamente tóxico. Rhyme refletiu, pensando que o suspeito havia migrado de toxinas oriundas de plantas para uma categoria completamente diferente — elementos químicos venenosos não eram mais perigosos que os anteriores, porém eram mais fáceis de se encontrar, pois possuíam usos comerciais e poderiam simplesmente ser comprados em concentrações letais; não seria preciso extraí-los e concentrá-los.
— Vejo que a polícia está aqui. — Agora ele olhava para a cadeira de rodas com um maior entendimento — Ah, já ouvi falar do senhor. É o senhor Rhymes, certo?
— Rhyme.
— E sei que o senhor Sellitto é um oficial da lei também. Foi o senhor que me deu a informação sobre os possíveis venenos?
— Correto — confirmou Sachs.
— Obrigado por isso, mas nós identificamos o arsênico rapidamente.
Agora, devo dizer algo aos senhores: o quadro dele é crítico. A dosagem da substância foi alta. Os pulmões, os rins, o fígado e a pele foram afetados, e ele já começou a apresentar mudanças na pigmentação das unhas, conhecidas como leuconiquia estriada. Isso não é um bom sinal.
— Arsenito inorgânico? — perguntou Rhyme.
— Sim.
Arsênico (III) é a mais perigosa toxina. Rhyme estava bem familiarizado com ela. Ele investigara dois casos nos quais ela fora usada como arma do crime — em ambos os casos cônjuges (um marido, uma esposa) haviam despachado seus parceiros com a substância.
Três outros casos que ele liderara com suspeita de envenenamento por arsênico se revelaram acidentais. A toxina se origina naturalmente em águas subterrâneas, particularmente onde o fraturamento hidráulico — fraturamento geológico de alta pressão para extração de óleo e gás — acontece.
Na verdade, ao longo da história, para cada vítima intencional de envenenamento por arsênico — como aconteceu com Francisco I de Médici, grão-duque da Toscana — havia muito mais vítimas acidentais: Napoleão Bonaparte, possivelmente ocorrido por causa do papel de parede do lugar para onde fora exilado em Santa Helena; Simón Bolívar (pela água da América do Sul); e a embaixatriz americana da Itália nos anos 1950 (tinta de parede descascando na residência dela). Também era possível que a loucura do rei Jorge fosse decorrência do metaloide em questão.
— Podemos vê-lo? — perguntou Sachs.
— Infelizmente, não. Ele está inconsciente. Mas uma enfermeira vai chamar quando ele acordar.
Rhyme reparou e, para o bem de Rachel, gostou da conjunção.
“Quando”, não “se” ele acordar.
O médico ofereceu um aperto de mão.
— Então o senhor acredita mesmo que alguém fez isso intencionalmente?
— Correto.
— Meu Deus.
Seu celular tocou e, sem dizer uma palavra, ele se virou para atender.
Em outubro de 1818, uma mulher atraente com rosto angular e olhos penetrantes morreu aos 34 anos no Condado de Spencer, em Indiana.
Há dúvidas sobre a causa da morte de Nancy Lincoln — possivelmente tuberculose ou câncer, mas o consenso era de que ela foi vítima da doença do leite, que ceifou a vida de milhares de pessoas durante o século XIX.
Apesar de a causa real não poder ser apontada, um fato sobre a morte de Nancy é bem documentado: seu filho de 9 anos, Abraham, o futuro presidente dos Estados Unidos, ajudou o pai a construir o caixão da mulher.
A doença do leite deixou os médicos perplexos por anos, até que por fim foi descoberto que a causa era o tremetol, um álcool altamente tóxico, que infectava o leite da vaca depois de o animal ter ingerido Ageratina altissima.
A planta é uma erva comum do dia a dia que raramente contribui esteticamente para qualquer jardim e, assim sendo, Billy Haven não gostava dela como elemento para desenhar. Mas amava suas propriedades tóxicas.
Quando ingerido, o tremetol faz com que a vítima sofra dores abdominais excruciantes, náusea intensa, sede, tremores incontroláveis e vômitos explosivos.
Mesmo uma pequena dose pode resultar em morte.
Com a cabeça baixa, usando um fedora de aba curta — bem hipster — e um sobretudo preto, Billy cruzava o Central Park, pelo lado oeste. Em sua mão enluvada havia uma pasta. Andava rumo ao sul, e havia feito uma longa viagem desde o Harlem, mas quis evitar as câmeras de vigilância do metrô, mesmo que sua roupa agora fosse diferente daquela que o Homem do Subterrâneo havia usado nos ataques anteriores.
Sim, tremetol era sua arma, mas o próximo ataque não envolveria tatuagem, então deixara a máquina na oficina perto da Canal Street. Hoje, as circunstâncias pediam por um método diferente de envenenamento. Mas um que poderia ser tão satisfatório quanto.
Billy estava desfrutando do bom humor. Ah, ele havia sentido satisfação com os ataques anteriores, é claro, tatuando o veneno nas vítimas, desenhando as bloodlines direitinho, angulando com cautela as serifas das letras em escrita gótica.
Uma Mod do Billy...
Mas aquilo era tão bom quanto a sensação de completar uma tarefa ou de terminar os afazeres domésticos.
O que ele estava prestes a fazer agora se enquadrava num nível completamente diferente de bom.
Billy deixou o parque e examinou as ruas cuidadosamente, as vias sentido centro e as perpendiculares, percebendo que ninguém olhava para ele com suspeita. Nenhuma viatura patrulhando. Continuou sua jornada rumo ao alvo.
Sim, esse ataque seria diferente.
Em primeiro lugar, não havia uma mensagem para ser enviada. Ele simplesmente injetaria o tremetol. Sem cicatrizes, sem tatuagens, sem modificações.
Além disso, não estava interessado em matar a vítima. Aquilo acabaria sendo prejudicial à Modificação. Não, o objetivo do veneno era debilitar.
Apesar disso, a vida do alvo seria bem diferente dali para a frente; talvez os sintomas mais perturbadores causados por uma Ageratina altissima não letal fossem o delírio e a demência. Não levariam muito tempo para perceber que o homem que ele envenenaria permaneceria vivo, mas se transformaria em um louco varrido por um longo, longo tempo.
Billy lamentava uma coisa, no entanto: sua vítima seria incapaz de sentir a náusea lancinante e insuportável e a dor abdominal que a toxina da Ageratina altissima causava. Lincoln Rhyme não sentia nada abaixo da região do pescoço. Os vômitos, os tremores e os outros sintomas seriam desagradáveis, mas não tão horrendos como em uma pessoa que tivesse um sistema nervoso totalmente funcional.
Billy agora virava a oeste descendo uma travessa e entrava num iluminado restaurante chinês com cheiro de alho e óleo quente. Foi até o banheiro, onde, em uma cabine, tirou o chapéu e o sobretudo e pôs o macacão.
Do lado de fora novamente — sem ser notado por clientes ou funcionários, ele percebeu —, Billy atravessou a rua e seguiu por uma ruela de acesso que o levaria até os fundos do apartamento de Rhyme.
Aquele beco sem saída fedia — cheirava um pouco como o restaurante chinês agora que pensou sobre o assunto, mas era relativamente limpo. O chão era de paralelepípedos antigos e remendos de asfalto, salpicados com lodo e gelo. Várias caçambas de lixo se alinhavam de forma organizada, recostadas nas paredes. Parecia que várias casas geminadas, incluindo a de Rhyme, e um prédio residencial davam de fundos para a área.
Ao reparar numa câmera nos fundos da casa de Rhyme, Billy passou a fingir que estava verificando a rede elétrica.
Ele se agachou atrás de uma caçamba, como se procurasse um fio desencapado ou conduítes, então contornou o receptáculo e se aproximou da porta. Retirou a seringa hipodérmica que continha a toxina da Ageratina altissima de dentro de um recipiente para escova de dentes e a colocou no bolso.
Tremetol, um líquido transparente, é um álcool, e se misturaria instantaneamente na bebida que as investigações de Billy revelaram ser a favorita de Rhyme — uísque escocês single malt. Também seria insípido.
As palmas das mãos de Billy suavam. Seu coração batia forte.
Pelo que ele sabia, poderia haver dez policiais armados reunidos com Rhyme lá dentro naquele momento. O alarme não estaria ligado, não durante o dia, mas ele poderia facilmente ser visto batizando a garrafa.
E possivelmente o matariam ali mesmo.
Mas a Modificação, naturalmente, envolvia riscos. Quais missões importantes não eram perigosas? Portanto, vai com tudo. Billy pegou o celular, um modelo com plano pré-pago, impossível de rastrear, e digitou um número nele.
Quase imediatamente ouviu: — Polícia e bombeiros. Qual a emergência?
— Tem um homem armado no Central Park! Ele está atacando uma mulher.
— Onde você está, senhor?
— Ele tem uma arma! Acho que vai estuprá-la!
— Sim, senhor. Onde o senhor está exatamente?
— A oeste no Central Park, a cerca de .... Não sei. Fica... Hum, ok, em frente ao número 350 da Central Park West.
— Alguém está ferido?
— Acho que sim! Meu Deus! Por favor! Envie alguém.
— Descreva o homem.
— Pele escura. Por volta dos 30 anos.
— Qual o seu nome?
Clique.
Sessenta segundos depois ele ouviu as sirenes. Ele sabia que a 20ª
Delegacia, localizada na região do Central Park, ficava perto.
Mais sirenes.
Dezenas de carros, calculou Billy.
Esperou até o volume das sirenes ficar mais alto; elas deviam estar atraindo a atenção de todos na casa. Arriscando que ninguém estaria vendo o monitor de segurança, Billy caminhou despretensiosamente até a porta dos fundos da casa de Rhyme. Parou novamente. Olhou ao redor. Ninguém.
Girou a fechadura.
Mais tarde, a polícia poderia ver a fita com as imagens — se é que gravam aquilo — e notar o invasor. Mas tudo que identificariam seria um vulto indefinido de cabeça baixa.
E então já seria tarde demais.
— O que está acontecendo? — vociferou Rhyme.
O cientista forense e Mel Cooper estavam na sala da frente do apartamento quando a porta se abriu. Ron Pulaski se juntou a eles.
Olhavam para a rua, que estava repleta de carros da polícia, duas vans da Unidade de Serviço de Emergência e duas ambulâncias.
Luzes azuis, brancas, vermelhas. Piscando freneticamente.
As mãos de Cooper e Pulaski estavam perto de suas armas.
Thom estava no andar de cima, provavelmente observando a rua pela janela do quarto.
Cinco minutos antes, Rhyme escutara o ruído insistente das sirenes aumentar à medida que os veículos de emergência cruzavam velozmente as ruas lá fora. Esperava que seguissem pela Central Park West, mas não foi o caso. Os veículos frearam e pararam a apenas um número dali, ao norte. Os uivos penetrantes permaneceram no volume máximo por um momento e então um a um foram sendo desligados.
Espiando lá fora, Rhyme disse: — Ligue para a central, Mel. Descubra o que é.
Ele presumira a princípio que o incidente tinha algo a ver com ele — talvez o suspeito estivesse efetuando um ataque direto ao apartamento —, mas então notou que as atenções dos policiais estavam focadas no parque propriamente dito e que nenhum dos policias que integravam a operação se aproximou de seu edifício.
Cooper teve uma breve conversa com alguém da central e então desligou.
— Um ataque no parque. Homem de pele escura, por volta de 30 anos.
Provável tentativa de estupro.
— Ah.
Eles continuaram a assistir àquilo por mais três ou quatro minutos.
Rhyme examinou o parque. Era difícil ver qualquer coisa através da neblina e da neve que havia voltado a cair forte. Um estupro? A urgência por sexo é de fato mais impulsiva que a por dinheiro, além de mais intensa, ele sabia disso, mas nesse tempo?
Perguntou-se se viria a fazer parte da análise criminal desse caso e pensava que, dado o tempo de chuva e neve, encontrar evidências seria um desafio.
Mas aquilo trouxe à mente Lon Sellitto, que, normalmente, era o representante do Departamento de Polícia que o contatava para passar trabalhos em potencial. O detetive permanecia numa das alas de cuidados intensivos, longe de recuperar a consciência.
Rhyme afastou o estupro, ou a tentativa de estupro, de sua mente. Ele, Pulaski e Cooper voltaram à sala-laboratório onde vinham analisando as evidências que a detetive Cheyenne Edwards havia entregado — as descobertas feitas na cena do crime na casa de Pam Willoughby.
Não havia muita coisa, apesar de o suspeito ter escapado com tanta pressa que se esquecera de pegar a agulha hipodérmica com a qual perfurara Seth e o frasco da substância com a qual presumidamente envenenaria o rapaz. A substância vinha de uma planta do gênero Actaea — uma erva-de-são-cristóvão. Assustadora. A toxina, explicou Cooper, era cardiogênica; ela basicamente faz o coração parar. De todos os venenos que o suspeito estava usando, aquele era o mais gentil, por matar sem a dor das toxinas que atacam os sistemas renais e gastrointestinais.
Rhyme notou Ron Pulaski olhando para baixo em direção ao celular.
Seu rosto iluminado com um brilho azulado fraco.
Verificando mensagens ou vendo as horas?, perguntou-se Rhyme.
Celulares eram usados como relógio com cada vez mais frequência nos dias de hoje.
Pulaski desligou a tela e disse para Rhyme: — Preciso ir.
Então eram as horas, não mensagens.
A missão sob disfarce de Ron Pulaski na funerária estava prestes a começar: ver quem iria buscar os restos mortais do Relojoeiro, para então, talvez, entender um pouco mais sobre o enigmático criminoso.
— Tudo pronto? Está pronto para virar Serpico, está pronto para ser Gielgud?
— Ele era policial? E, espera aí, Serpico não tomou um tiro na cabeça?
Rhyme e Pulaski passaram algum tempo naquela manhã elaborando a história de fachada que contariam ao diretor da funerária e para quem mais estivesse lá para buscar os restos mortais do homem.
Rhyme nunca havia realizado uma investigação sob disfarce, mas sabia as regras: menos é mais e mais é menos. Significa que se estuda bastante seu papel, cada possível detalhe sobre ele, mas, quando se apresenta ao criminoso, se oferece o mínimo. Inundar os bandidos com detalhes é dar muito na vista.
Então ele e Pulaski criaram uma biografia para Stan Walesa, uma que tornasse plausível algumas ligações com o Relojoeiro. Rhyme percebera que Pulaski estava andando em círculos pelo laboratório o dia inteiro, recitando os dados que eles inventaram.
— Nascido no Brooklyn, possui uma companhia de importação e exportação, investigado por fraudes imobiliárias, questionado sobre ligação com um desvio bancário, divorciado, tem conhecimento sobre armas, foi contratado por um conhecido do Relojoeiro para transportar contêineres para o exterior, não, não posso falar o nome dele, não, eu não sei o que havia nos contêineres. Novamente: nascido no Brooklyn, tem uma companhia...
Agora, enquanto Pulaski colocava o casaco, Rhyme disse: — Olha, novato, não pense no fato de que essa é a nossa última chance de montar o quebra-cabeça da biografia do falecido Relojoeiro.
— Hum, ok.
— E que, se você fizer bobagem, jamais teremos essa oportunidade novamente. Não pense nisso. Afaste isso da sua mente.
— Eu... — O rosto do oficial relaxou. — Você está tirando uma com a minha cara, não está, Lincoln?
Rhyme sorriu.
— Você vai se sair bem.
Pulaski riu e desapareceu pelo corredor. Sua saída foi anunciada um momento depois por uma rajada de vento atravessando a porta aberta. A fechadura fez um clique; então silêncio.
Rhyme se virou para examinar os envelopes com as evidências que a detetive Edwards havia coletado no apartamento de Pam, logo depois de o suspeito atacar Seth.
Mas seu foco se prendeu em algo além das sacolas.
Hum, o que é isso?
Um milagre havia ocorrido.
Olhava para as prateleiras contendo livros de ciência forense, uma pilha de revistas especializadas, um densímetro e... seu uísque single malt. A garrafa de Glenmorangie estava a seu alcance. Thom geralmente a colocava no alto da prateleira — fora do alcance de Rhyme, do mesmo jeito que se mantinha doce longe de criança, o que deixava Rhyme louco da vida.
Mas, aparentemente, o ajudante superprotetor havia se distraído e ferrado tudo.
Rhyme resistiu à tentação por enquanto e manobrou de volta até as evidências do apartamento de Pam, do depósito no porão e das roupas de Seth esticadas sobre a mesa de análise. Ele e Cooper passaram meia hora inspecionando os achados — que não eram muitos. Nenhuma impressão digital, é claro; algumas fibras, um fio de cabelo ou dois, apesar de poderem pertencer a Pam ou a um de seus amigos. Ou mesmo a Amelia Sachs, que vinha fazendo visitas a Pam. Havia vestígios, mas eram idênticos em sua maioria aos das cenas anteriores. Apenas uma nova substância foi encontrada: umas fibras na camisa de Seth, por onde o suspeito o agarrara.
Pertenciam a uma planta-baixa de arquitetura ou engenharia. Tinham de ser do Cinco-Onze, pois Seth não usaria tais diagramas em seu trabalho como freelancer para agências de publicidade. E não haveria razões para Pam ter entrado em contato com tais diagramas também.
Mel Cooper preencheu uma nova tabela de evidências, a qual incluía o vestígio, a seringa, as fotos da cena e as pegadas da sapatilha descartável.
Rhyme observou com atenção as poucas informações, desgostoso.
Nenhum estalo.
Deu a volta e se dirigiu à prateleira, pensando no sabor e no cheiro turfoso do uísque, pungente, mas não muito defumado.
Outro olhar de relance para a cozinha, onde Thom se ocupava com seus afazeres, e na direção de Cooper, que guardava as evidências da cena.
Rhyme pegou a garrafa da prateleira com facilidade e a depositou entre as pernas. Foi mais desajeitado ao lidar com o copo de cristal, erguendo-o — cuidado, cuidado — e deixando-o na prateleira a uma distância razoável.
Em seguida voltou a atenção para a garrafa e, manuseando-a com cuidado, removeu a tampa e despejou o líquido no copo.
Um dedo, dois dedos, ok, vai, três.
Havia sido um dia difícil A garrafa repousou com segurança de volta no lugar onde estava, e ele girou a cadeira, retornando para o centro do laboratório.
— Não vi nada — comentou Cooper, de costas para Rhyme.
— Ninguém acredita em testemunhas, Mel. — Rhyme se dirigiu até o painel de evidências e parou.
Sem derrubar uma gota.
Amelia Sachs estava sentada numa cafeteria em Midtown, uma daquelas delicatessens tradicionais que cada vez mais davam lugar a franquias corporativas com nomes pseudoestrangeiros. Aqui, menus manchados, funcionários mediterrâneos, cadeiras bambas — e a melhor comida caseira no raio de alguns quilômetros.
Agitada. Ela afundou a unha do polegar em um dedo, mas evitou o sangramento. Péssimos hábitos. Incontroláveis. Sachs conseguia controlar algumas coisas. Outras não.
E impedir a estada temporária de Pam com Seth?
Sachs havia deixado duas mensagens para a garota — seu limite, decidiu —, mas tentara ligar outra vez e, no terceiro toque, Pam atendeu.
Sachs perguntou como Seth estava depois do ataque.
— Os médicos do hospital disseram que ele está bem. Ele não chegou a ficar internado.
Aparentemente Seth não estava tão irritado com ela quanto antes; pelo menos estavam conversando.
— E você?
— Bem.
E ficou em silêncio.
Sachs respirou fundo e perguntou se elas poderiam se encontrar para tomar um café.
Pam hesitou, mas então concordou, dizendo que teria de ir trabalhar de qualquer forma. E sugeriu essa delicatéssen, que era do outro lado da rua onde ficava o teatro.
Sachs passou a mexer em seu telefone para não cutucar o dedo até se machucar.
O Colecionador de Peles...
O que ela poderia dizer para Pam a fim de convencer a menina a não largar os estudos e não sair em viagem ao redor do mundo?
Bem, espere. Você não pode pensar nela desse modo. Menina. Claro que não. Ela tinha 19 anos. Sobrevivera a sequestros e tentativas de assassinato. Havia desafiado milicianos. Tinha o direito de tomar as próprias decisões e de cometer os próprios erros.
E, Sachs se perguntou, será que a decisão de viajar teria sido um erro?
Quem era ela para dizer alguma coisa?
É só ver seu histórico amoroso. O ensino médio para ela foi, como para todo mundo, um tempo de descobertas, desastres emocionais e frustrações.
Então chegara ao mundo profissional da moda. Sendo uma modelo alta e deslumbrante, Sachs tinha de tomar cuidado com o tipo de pessoa com quem socializava. O que foi uma pena, pois alguns dos homens que conhecera em ensaios fotográficos e durante sessões de planejamento publicitário provavelmente teriam sido bem legais. Mas eles ficaram perdidos no meio de uma vasta gama de outros homens. Era mais fácil dizer não a todos, entrar em sua garagem e regular motores ou frequentar corridas de cavalo e marcar o tempo de voltas com seu Camaro SS.
Depois de entrar para a polícia, as coisas não melhoraram muito.
Cansada das intermináveis investidas, das piadas de cunho sexual, dos olhares e das atitudes imaturas dos colegas policiais, ela permanecera reclusa. Ah, então era isso, os policiais homens deduziram, depois de ela ter repelido suas empreitadas. Era sapatão. Mas linda de morrer. Puta desperdício.
Então conhecera Nick. O primeiro amor, amor verdadeiro, ardente, um amor completo. Seja lá qual adjetivo batido preferirem.
E, com Nick, revelou-se ser também um amor traidor.
Não a traição habitual, não. Mas, para Sachs, talvez tenha sido pior. Nick era um policial corrupto. E um policial corrupto que machucava pessoas.
Ter conhecido Lincoln Rhyme havia salvado sua vida. Pessoal e profissionalmente. Apesar de aquele relacionamento também ser alternativo, obviamente.
Não, as histórias e as experiências de vida de Sachs dificilmente a credenciariam para passar sermões em Pam. Ainda assim, como quando se dirige lentamente ou se hesita antes de arrombar uma porta durante uma batida policial, Sachs não conseguia deixar de dar sua opinião.
Isso se a menina... a jovem aparecesse.
O que por fim aconteceu, com quinze minutos de atraso.
Sachs não disse nada sobre o atraso, apenas se levantou e deu um abraço nela. O gesto não foi exatamente rejeitado, mas a policial sentiu certa rigidez nos ombros de Pam. Notou também que a jovem não tinha tirado o casaco. Apenas arrancou o chapéu da cabeça e ajeitou o cabelo. As luvas também. Mas a mensagem era: isso vai ser rápido. Seja lá o que você for falar.
E sem sorrisos. Pam tinha um lindo sorriso, e Sachs amava quando o rosto da garota formava um arco crescente espontâneo. Mas não agora, não hoje.
— Como estão os Olivetti?
— Bem. Howard comprou um cachorro para Jackson brincar. Marjorie perdeu quatro quilos e meio.
— Sei que ela estava tentando. A sério.
— É. — Pam passou os olhos no menu. Sachs sabia que ela não iria pedir nada. — O Lon está bem?
— Ainda em estado crítico. Inconsciente.
— Cara, que mal — comentou Pam. — Vou ligar para Rachel.
— Ela iria adorar.
A jovem ergueu o olhar.
— Olha, Amelia. Tem algo que eu gostaria de falar.
Isso seria bom ou ruim?
— Desculpe pelo que eu disse, sobre você e minha mãe. Aquilo não foi justo.
Sachs na verdade não ficara muito ofendida com o comentário.
Claramente foi uma daquelas frases espinhosas que saem para machucar e terminar discussões.
Ela levantou a mão.
— Não, está tudo bem. Você estava furiosa.
O aceno com a cabeça da garota disse a Sachs que sim, ela estivera furiosa. E seus olhos revelaram que ainda estava, apesar do pedido de desculpas.
Ao redor delas, casais e famílias, pais com seus filhos de todas as idades, envoltos em suéteres e blusas de flanela, sentados diante de cafés e chocolates quentes e sopa e sanduíches de queijo grelhados e conversando ou rindo ou sussurrando. Tudo parecia tão normal. E tão distante do drama da mesa em que ela e Pam estavam.
— Mas preciso dizer a você, Amelia. Nada mudou. Vamos viajar em um mês.
— Um mês?
— O semestre. — Pam não seria levada a debater além dali. — Amelia, por favor. Isso é bom para a gente, o que estamos fazendo. Eu estou feliz.
— E eu quero ter certeza de que você vai continuar assim.
— Bem, a gente vai viajar. Estamos de partida. Decidimos que primeiro para a Índia.
Sachs não quis nem saber se Pam tinha passaporte.
— Olha. — Sachs ergueu as mãos. O gesto indicou desespero, e ela as abaixou. — Você tem certeza que quer... desordenar sua vida assim? Eu realmente acho que não deveria.
— Você não pode me dizer o que fazer.
— Eu não estou te dizendo o que fazer. Mas posso aconselhar alguém que eu amo.
— E eu posso rejeitar o conselho. — Um suspiro seco. — Acho que é melhor a gente não se falar por um tempo. Isso é tudo... Estou chateada. E está bem claro que estou te irritando pra caramba.
— Não. De jeito nenhum. — Ela tentou segurar a mão da garota, mas Pam havia se antecipado e recuado a mão. — Estou preocupada com você.
— Você não precisa estar.
— Sim, preciso.
— Porque para você eu sou uma criança.
Bem, você certamente está agindo como uma, porra.
Mas Sachs se controlou por um instante. Então pensou: hora de ser durona.
— Você viveu tempos difíceis na infância e na adolescência. Você é...
vulnerável. Não sei outro jeito de dizer isso.
— Ah, de novo isso. Ingênua? Uma tola.
— Claro que não. Mas foram sim tempos difíceis.
Depois de escaparem de Nova York, logo após o plano terrorista que a mãe de Pam havia orquestrado, as duas se esconderam numa pequena comunidade de milicianos e “suas mulheres” em Larchwood, Missouri, noroeste de St. Louis. A vida da garota se tornara um inferno — doutrinação pela política da supremacia branca e chicotadas em público na bunda despida quando era desrespeitosa. Enquanto os garotos milicianos, que recebiam aulas em casa, aprendiam a ser construtores, fazendeiros e corretores, Pammy, como mulher, somente poderia se especializar em culinária, corte e costura e em dar aulas em domicílio.
Passara seus anos de formação lá, infeliz mas também decidida a desafiar essa comunidade de milicianos fundamentalistas de extrema-direita. Por volta da pré-adolescência, escapara dos limites do território para comprar leituras “do demônio” como Harry Potter, O Senhor dos Anéis e o New York Times. E ela não toleraria aquilo que esperavam das muitas outras garotas ali. (Quando um dos pastores leigos tentou encostar no peito dela para ver se “seu coração está batendo por Jesus”, Pam respondeu com um silencioso “tira essa mão” na forma de um corte profundo no antebraço do homem com um estilete, o qual frequentemente carregava consigo.) — Eu falei, isso é passado. Acabou. Não importa mais.
— Importa sim, Pam. Foram anos muito difíceis para você. Isso te afetou, de formas que você nem consegue perceber. É o tipo de experiência que só se pode superar depois de muito tempo. E você precisa contar a Seth tudo que aconteceu com você quando era uma fugitiva.
— Isso não é verdade. Não preciso contar nada a ele.
— Acho que você está pulando de cabeça na primeira chance que apareceu de viver um relacionamento normal — comentou Sachs, com calma. — E você está sedenta por isso. Eu entendo.
— Ah, você entende, sei, sei. Isso soou condescendente. Falando assim você me faz parecer desesperada. Eu falei, não estou me casando. Não vou ter um filho com ele. Só quero viajar com o cara que eu amo. Qual é o problema, merda?
Isso estava indo muito mal. Como acabei perdendo o controle? Essa foi a mesma conversa que elas tiveram outro dia. Exceto que o tom foi mais sombrio. Pam pôs o chapéu de volta. Começou a se levantar.
— Por favor, espera só um minuto. — A mente de Sachs se atropelava.
— Deixa eu dizer mais uma coisa. Por favor.
Impaciente, Pam se sentou de novo. Uma garçonete chegou. Ela gesticulou fazendo com que a mulher saísse.
Sachs disse:
— Será que a gente poderia...?
Mas ela jamais conseguira finalizar seu apelo à garota, pois seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mel Cooper. Ele pedia que ela fosse à casa de Rhyme o mais rápido possível.
Na verdade, a mensagem estava longe de ser um pedido.
Na verdade, nunca é quando a mensagem contém a palavra “emergência”.
Ao examinar a porta dos fundos da residência de Rhyme, Amelia Sachs, enluvada e com traje de perito, concluiu: o filho da puta realmente sabia arrombar fechaduras.
O Suspeito Cinco-Onze não gastara mais que um minuto para invadir a residência e deixar uma garrafa de uísque na prateleira de Rhyme — ardilosamente deixando-a ao alcance do cientista forense em sua cadeira de rodas. Sachs não estava surpresa com o fato de o suspeito ter habilidade para arrombamentos e invasões; o talento dele com tatuagem atestava sua destreza.
A neve caía difusa e ventava. A essa altura, toda e qualquer evidência no beco sem saída perto da porta dos fundos provavelmente já havia sido obliterada. Atravessando a porta, onde as pegadas poderiam ser visíveis, não descobriu nada além de marcas deixadas pelas sapatilhas descartáveis dele.
A estratégia por trás do ataque agora estava clara: o Cinco-Onze havia feito uma denúncia falsa — uma tentativa de estupro no Central Park, perto da casa. Quando Rhyme e os outros que ali estavam foram até a porta da frente para ver o que estava acontecendo, o suspeito se esgueirou pelos fundos e encontrou uma garrafa de uísque aberta, derramou um pouco de veneno dentro dela e então escapou silenciosamente.
Sachs fez uma varredura atrás de pistas na rota que ia da porta dos fundos até a escada, pelo corredor da cozinha até a sala. Rhyme possuía um sistema de alarme, que era desligado quando a casa estava ocupada, como era o caso no momento. Câmeras de segurança filmavam as portas da frente e dos fundos, mas eram apenas imagens em tempo real; não eram gravadas.
Um sentimento de violação tomou conta de Sachs. Alguém havia rompido as defesas do castelo, alguém sorrateiro e astuto. E letal. Thom já tomara as providências para que as fechaduras fossem trocadas e para que uma barra de metal fosse colocada em ambas as portas, mas, quando se tem o lar invadido por alguém, jamais se consegue se livrar completamente da mácula da profanação. E da preocupação de que isso possa ocorrer de novo.
Enfim ela chegou ao andar principal e entregou os vestígios ensacados para Mel Cooper.
Lincoln Rhyme girou sua cadeira de rodas da Merits, ficando de costas para a mesa onde vinha revisando as evidências e perguntou: — E...? Alguma coisa?
— Não muita — respondeu Sachs. — Quase nada.
Rhyme não estava surpreso.
Não com o Suspeito Cinco-Onze na história.
Sachs examinou Rhyme cuidadosamente com o olhar, como se ele tivesse bebido de fato um pouco do uísque envenenado.
Ou talvez ela apenas estivesse perturbada pelo suspeito ter conseguido entrar, batizar a garrafa e fugir sem que ninguém percebesse.
O próprio Rhyme estava abalado, Deus era testemunha. Na verdade, estava mais irritado que perturbado — por não ter deduzido que o uísque estava envenenado, apesar de que, em retrospecto, dava para suspeitar. Era óbvio que Thom jamais largaria uma garrafa quase cheia de uma bebida com quarenta por cento de teor alcoólico ao alcance de seu chefe. Junte isso ao fato de Lon Sellitto e Seth McGuinn terem sido atacados e de uma emergência policial ter ocorrido bem em frente à sua casa, uma distração perfeita, então, sim, Rhyme deveria ter suspeitado.
Mas, muito pelo contrário, a salvação tinha vindo de uma ligação para a emergência. Um transeunte do outro lado da rua havia visto alguém sair pela área de serviço de Rhyme e colocar uma agulha hipodérmica no bolso.
— Parecia suspeito — relatara o Bom Samaritano. — Coisa de drogas, talvez tivesse arrombado a casa, você sabe.
O atendente da emergência telefonara para Rhyme, que por sua vez compreendeu imediatamente que aquele Glenmorangie depositado equivocadamente na prateleira era a maçã da Branca de Neve.
Olhara fixamente para o copo em sua mão e percebera que havia estado a um segundo de uma morte bastante desagradável, apesar de para ele ser menos ruim que para os outros, uma vez que a maior parte de seu corpo não sentiria a dor excruciante que o veneno causa.
Mas afastou essa sombra da mortalidade por ser um homem para o qual a morte tinha sido uma opção fácil — voluntariamente ou não — por anos.
Sua condição, a tetraplegia, trouxe consigo muitos aspectos que poderiam jogá-lo num caixão a qualquer instante: disreflexia e sepsia, por exemplo.
Então, uma tentativa de envenenamento? Uma boa notícia até. Isso poderia revelar novas evidências que os deixaria um pouco mais perto do homem que era o herdeiro espiritual do Colecionador de Ossos.
Havia alguma coisa errada.
Disseram a Ron Pulaski que não havia serviço funerário algum planejado para Richard Logan.
Mas aparentemente esse não era mais o caso.
Havia seis pessoas na sala para onde ele tinha sido encaminhado na Funerária Berkowitz, na esquina da Broadway com a 96.
Pulaski ainda não havia entrado. O policial de patrulha permaneceu no corredor, bem ao canto, espiando o interior. Pensava: difícil se misturar ao ambiente sem problemas quando se é um estranho perante seis pessoas que se conhecem — uma delas, ou todas, pode ter um belo incentivo para suspeitar que você é um invasor e te dar um tiro.
E o nome do lugar! Berkowitz não era o Filho de Sam? Aquele serial killer dos anos 1970 ou 1980?
Mau sinal.
Apesar de Ron Pulaski tentar com afinco ser como Lincoln Rhyme e não acreditar em presságios ou superstições, ele de certo modo acreditava.
Deu um passo para a frente. Parou.
Pulaski havia passado bastante tempo pensando no que faria em uma missão sob disfarce. Ele era um policial de rua, de patrulha das ruas — ele e seu irmão gêmeo, também patrulheiro. Pensava numa estrofe ruim de um rap que ele e o irmão inventaram juntos.
Um policial durão, polícia de plantão, te dá uma multa e te manda pra casa.
Ou te apreende e te bota na penitenciária.
Em Rikers, a ilha, na enseada.
Não sabia quase nada sobre a arte de trabalhos de infiltração e disfarce — tão brilhantemente desempenhados por gente como Fred Dellray, o alto e esguio agente afro-americano do FBI que conseguia se passar por qualquer um, desde um traficante caribenho até um CEO do top 500 da Fortune tipo Charles Taylor.
O sujeito já nasceu ator. Vozes, postura, expressões... tudo. E aparentemente aquele cara, Gielgud, também (talvez Dellray trabalhasse com ele). E Serpico. Ainda que tivesse tomado um tiro.
Policial durão, polícia de plantão, passando pela neve caída no chão...
O verso de rap passava por sua mente, de algum modo acalmando sua inquietação.
Por que você está tão tenso?
Não era como se tivesse de se disfarçar no meio de drogados e integrantes de uma gangue. Os amigos e familiares de Richard Logan, ou seja lá quem fossem essas pessoas, pareciam com a média dos cidadãos de Manhattan que respeitam as leis. O Relojoeiro havia atingido um círculo social diferente, mais alto que a maioria dos criminosos. Ah, ele tinha sido condenado por assassinato. Mas era impossível imaginar Logan, o Relojoeiro, o sofisticado, numa cracolândia ou fazendo metanfetamina em um trailer. Bons restaurantes, partidas de xadrez e museus eram mais a praia dele. Ainda assim, Pulaski estava ciente de que o Relojoeiro havia tentado matar Rhyme da última vez que se encontraram. Talvez o criminoso tivesse deixado instruções em seu testamento para que um assassino contratado associado a ele fizesse exatamente o que Pulaski fazia no momento: zanzar pela funerária, identificar algum policial disfarçado nervoso e depois arrastá-lo até o beco.
Ok. Meu Deus. Se toca.
Havia um risco, refletiu, mas não o de uma bala na nuca. O risco era de estragar tudo e desapontar Lincoln e Amelia.
Aquela maldita incerteza, o questionamento. Eles nunca vão embora.
Não completamente.
Pelo menos ele se achou parecido com seu personagem. Terno preto, camisa branca, gravata apertada. (Quase havia usado sua gravata do uniforme da polícia, mas concluiu: você está louco? Não era como se estivesse usando o distintivo, mas alguém aqui poderia conhecer os uniformes da polícia. Seja esperto.) Ele havia deixado a aparência desleixada, a pedido de Lincoln. Deixou de fazer a barba por um dia (um pouco patético isso, visto que seria preciso chegar perto para ver os fiapinhos loiros), camisa manchada, sapatos surrados. E andou praticando sua cara de durão.
Inescrutável, perigoso.
Pulaski novamente espiou o interior da sala onde acontecia o serviço funerário. As paredes eram pintadas de verde-escuro e havia cadeiras perfiladas, suficientes para quarenta, cinquenta pessoas. No centro havia uma mesa, coberta por um manto roxo. Os visitantes eram quatro homens, com idades entre 40 e 70, julgou ele. Duas mulheres pareciam ser cônjuges ou companheiras de dois deles. A indumentária era o que se esperava — ternos e vestidos escuros, conservadores.
Era esquisito. Tinha sido informado de que não haveria visitação nem velório. Apenas alguém para coletar os restos mortais.
Sim, suspeito. Será que era uma armadilha?
Bala na nuca?
Por outro lado, se fosse legítimo, se os planos tivessem mudado e se estivesse mesmo havendo um velório improvisado para o Relojoeiro, isso seria uma grande conquista. Com certeza alguém ali conhecera bem Richard Logan e poderia ser uma fonte de informação sobre o gênio falecido.
Ok, apenas vá e mergulhe de cabeça.
Policial durão, polícia de plantão, indo pro funeral de um vilão.
Pulaski se aproximou de uma das pessoas em luto, um idoso de terno preto.
— Oi — saudou ele. — Stan Walesa.
Havia ensaiado falar e atender pelo nome repetidamente (fizera com que Jenny o chamasse por esse nome durante toda a noite anterior), para que não ignorasse quando alguém dissesse “Stan” durante a operação. Ou, ainda pior, olhar para trás, também procurando, quando a pessoa o chamasse.
O homem se identificou — Logan não era parte de seu sobrenome — e apresentou Pulaski a uma das mulheres e a outro homem. Esforçou-se para memorizar os nomes, então lembrou a si mesmo de tirar uma foto mais tarde, com o celular, da lista de presença.
— De onde você o conhecia? — perguntou, fazendo um sinal com a cabeça indicando a urna.
— Trabalhávamos juntos.
Olhares breves de todos ali.
— Há alguns anos.
Um dos homens mais jovens franziu a testa. Direto do elenco de Família Soprano.
— Vocês trabalhavam juntos?
— Correto.
— De perto?
Seja durão.
— É. Bem de perto. — Seu olhar dizia: “O que você tem a ver com isso?”
Pulaski se lembrou de tudo que pôde sobre os crimes que o Relojoeiro havia conduzido. Seu plano ali não era deixar diretamente claro que eles foram parceiros, mas sugerir que fizeram alguns negócios escusos juntos — para aguçar o apetite de qualquer um que pudesse querer uma fatia dos projetos em andamento do Relojoeiro depois de sua morte.
Contêineres, carregamentos, mais ou menos.
Menos é mais, mais é menos.
As pessoas se emudeceram. Pulaski percebeu que música clássica vinha de alto-falantes invisíveis. Não havia escutado antes.
Para manter a conversa rolando, Pulaski disse: — Tão triste.
— Uma dádiva, entretanto — comentou uma das mulheres.
Dádiva, refletiu Pulaski. Supôs que, sim, em vez de passar a maior parte da vida na prisão, uma morte rápida e relativamente indolor era uma dádiva.
— Há uns dois anos, a gente estava trabalhando junto — continuou Pulaski —, e ele parecia bem.
Na verdade, ele conseguia imaginar o Logan daquela época. Ele estava bem saudável.
Os presentes no velório trocaram olhares novamente.
— E tão jovem — acrescentou o policial disfarçado.
Havia algo errado. Porém o mais velho dos ali em luto se inclinou para perto e tocou no braço de Pulaski. Um sorriso.
— Para mim, sim, ele era jovem.
O visitante se afastou. Outro, notou ele, havia deixado a sala. Para pegar sua arma?
Isso não estava indo bem. Pulaski se voltou para o senhor mais velho, mas antes que pudesse falar outra voz o interrompeu. Leve, porém firme.
— Com licença, senhor.
Pulaski se virou e viu um homem grande, de terno escuro, olhando bem de perto para ele. Tinha cabelos grisalhos e usava óculos de armação preta.
— Eu poderia falar com o senhor por um momento?
— Comigo?
— Com o senhor.
O homem estendeu a mão — calejada e enorme —, mas não para cumprimentar. Ele apontou e conduziu Pulaski para fora da sala, dirigindo-se ao corredor da esquerda.
— Senhor — falou o homem —, qual o seu nome?
— Stan Walesa. — Pulaski estava em posse de uma identidade falsa de quinta categoria que ele mesmo havia forjado.
Mas o homem não pediu identificação alguma. Seus olhos penetravam os de Pulaski, e ele falou com aspereza: — Senhor Walesa, o senhor sabe que algumas pessoas ocasionalmente vão a velórios com esperança de conseguir alguma coisa.
— Conseguir alguma coisa?
— Vai desde comida na recepção até venda de seguros ou programas financeiros. Advogados também.
— Sério?
— Sim.
Pulaski se lembrou de que deveria estar bancando o cara durão. Em vez de parecer nervoso e dizer que aquilo era terrível, foi ríspido.
— E o que isso tem a ver comigo? Quem é você?
— Sou Jason Berkowitz. Diretor. A família ali achou que o comportamento do senhor era um pouco suspeito. O senhor estava alegando que conhecia o falecido.
— O que é suspeito nisso? Eu o conhecia.
— O senhor alegou que trabalhava com ele.
— Não aleguei nada. Trabalhei mesmo com ele. — O coração de Pulaski batia tão forte que ele tinha quase certeza de que o homem podia ouvir.
Mas se esforçou para bancar o sabichão.
— O senhor não se parece com o tipo de gente que trabalharia com o senhor Ardell.
— Quem?
— Blake Ardell.
— E quem seria esse homem?
— Não seria. É o funeral dele que o senhor estava invadindo.
— Invadindo? Como assim? Estou aqui para o funeral de Richard Logan.
O diretor hesitou.
— O senhor Logan? Oh, meu Deus. Desculpe, senhor. Esse é na Serenidade.
— Serenidade?
— O nome da sala do outro lado do corredor. Essa aqui é a Paz, o velório do senhor Ardell.
Maldição. Pulaski lembrou. O homem na porta dissera para ele virar à direita. Ele virara à esquerda.
Merda, merda, merda. Maldita lesão na cabeça. Se isso fosse uma missão de apreensão de drogas, ele já estaria morto a essa hora.
Pense melhor.
Mas se mantenha caracterizado.
— Um dos seus funcionários, não lembro qual, me mandou para aquela sala.
— Me desculpe. Por favor, aceite nossas desculpas. Um erro inteiramente nosso.
— E os nomes? Nunca ouvi falar em dar nomes para salas numa funerária. Você precisa usar números.
— Sim, senhor, isso é um pouco incomum. Perdão. Eu realmente peço desculpas.
— Oh, tudo bem.
Pulaski franziu o cenho. Acenou com a cabeça. Então parou, lembrando-se das curiosas expressões no rosto das pessoas em luto quando ele havia mencionado que trabalhava com o falecido.
— Uma pergunta. Você disse que eu não parecia com o tipo de pessoa que havia trabalhado com esse Ardell. O que ele fazia?
— Ele foi uma estrela do cinema pornô durante os anos 1970 — sussurrou Berkowitz. — Gay. A família não gosta de falar sobre isso.
— Imagino que não.
— Aquela é a sala com os restos mortais do senhor Logan. — Ele apontou para uma pequena entrada.
Serenidade...
Pulaski se dirigiu até uma pequena sala de seis por seis e entrou. Havia algumas poucas cadeiras, uma mesa de café e algumas paisagens inócuas cobrindo a parede. Também um buquê de flores brancas deprimentes. E numa mesa com uma toalha de veludo, similar àquela sob a urna do ator pornô, havia uma caixa de papelão marrom. Pulaski sabia que deviam ser os restos mortais do Relojoeiro. Atrás da mesa encontrava-se um homem careca roliço de terno executivo preto. Ele falava ao celular. Olhou brevemente para Pulaski com curiosidade e desviou o olhar. Pareceu então diminuir o tom da voz. Por fim desligou.
Respirando fundo, Pulaski caminhou até ele. Acenou com um gesto de cabeça.
O homem não disse nada.
Pulaski o examinou de cima a baixo — continue seco, continue durão.
— Você era amigo de Richard?
— E você é...? — perguntou o homem em tom barítono e sotaque sulista.
— Stan Walesa — respondeu Pulaski. O nome já quase parecia natural a essa altura. — Eu perguntei: você era amigo de Richard?
— Não sei quem é você e não sei por que está perguntando isso.
— Ok, eu trabalhava com Richard. De vez em quando. Ouvi falar que ele estaria sendo cremado essa manhã e presumi que haveria um velório.
— Eu trabalhava com Richard — repetiu o homem, medindo o policial de cima a baixo. — Bem, não há velório. Fui contratado para levar os restos mortais dele para casa.
Pulaski franziu a testa.
— Um advogado.
— Correto. Dave Weller. — Nenhuma mão foi oferecida para cumprimentos.
Pulaski manteve a ofensiva.
— Não me lembro de você no julgamento.
— O senhor Logan não era meu cliente. Jamais o conheci.
— Só levando as cinzas de volta para casa?
— Como eu disse.
— Para a Califórnia, certo?
A única resposta foi: — O que o senhor está fazendo aqui, senhor Walesa?
— Dando o último adeus. — E se aproximou da caixa. — Sem urna?
— Não faria muito sentido — disse Weller. — Richard queria que suas cinzas fossem jogadas.
— Onde?
— Foi você que enviou isso?
Pulaski olhou para o buquê, o que Weller indicava com a cabeça. O policial tentou parecer um pouco, mas não muito, confuso.
— Não. — Ele se aproximou do vaso e leu o cartão. Deu uma risada áspera.
Inescrutável.
— Isso é bem baixo — comentou.
— O que você quer dizer com isso? — perguntou Weller.
— Você sabe quem é esse cara, o que mandou as flores?
— Eu li o cartão quando cheguei aqui. Mas não conheço o nome. Lincoln Rhyme?
— Você não conhece o Rhyme? — Baixando o tom de voz, Pulaski continuou: — Ele é o filho da puta que colocou meu amigo na prisão.
— Polícia? — indagou Weller.
— Trabalha com a polícia.
— Por que ele enviaria flores?
— Acho que está se vangloriando.
— Bem, foi um desperdício de dinheiro então. Não é como se Richard pudesse se sentir ofendido agora, não? — Um olhar rápido em direção à caixa.
Silêncio.
Como se comportar agora? Cara, esse negócio de atuar era exaustivo.
Decidiu balançar a cabeça negativamente contra a injustiça do mundo.
Olhou para baixo.
— Uma pena, de verdade. Quando falei com ele da última vez, ele estava bem. Ou pelo menos não mencionou nada como dores no peito.
Weller ficou alerta.
— Conversou com ele?
— Exato.
— Isso foi há pouco tempo?
— Sim. Na prisão.
— Você está aqui sozinho? — quis saber Weller.
Um aceno. Pulaski perguntou o mesmo.
— Sim.
— Então não vai haver funeral?
— A família ainda não decidiu. — Weller examinou Pulaski cautelosamente de cima a baixo.
Ok, hora do mais virar menos...
— Bem, até mais, senhor Weller. Diga à família dele, ou seja lá quem for seu cliente, que sinto muito pela perda. Vou sentir falta dele também. Ele era um... homem interessante.
— Como eu disse, nunca o conheci.
Pulaski calçou luvas pretas de algodão.
— Até.
Weller acenou.
Pulaski já estava na porta quando o advogado disse: — De verdade, por que você veio aqui, senhor Walesa?
O jovem policial parou. Virou-se.
— “De verdade”? O que você quer dizer com isso?
Durão tipo De Niro. Durão tipo Tony Soprano.
— Jamais foi cogitado haver um velório. Se tivesse ligado para saber quando eu viria pegar os restos mortais, coisa que você fez já que está aqui, você saberia que não haveria velório. O que devo pensar disso então?
Pulaski refletiu — e ponderou algo genial. Enfiou a mão nos bolsos e tirou um cartão de visitas. Ofereceu-o ao homem com a mão ainda enluvada. Disse: — Dê isso aos seus clientes.
— Por quê?
— Apenas dê isso a eles. Ou jogue fora. — Deu de ombros. — A decisão é sua.
O advogado o fitou friamente e pegou o cartão. Havia apenas o nome falso e o número do celular pré-pago dele.
— O que exatamente você faz, senhor Walesa?
O olhar de Pulaski começou na cabeça calva do advogado e terminou nos sapatos, que estavam quase tão lustrosos.
— Tenha um bom dia, senhor Weller.
E, com um olhar oblíquo em direção à caixa contendo as cinzas do Relojoeiro, Pulaski se dirigiu à porta.
Pensando: isso, fui perfeito!
Entretanto, o suspeito não havia deixado tantas evidências na casa quanto Rhyme tinha esperado.
E não havia nenhuma outra pista concreta. O telefonema sobre o invasor viera de uma fonte anônima. Uma varredura na área, para encontrar testemunhas que tivessem visto o suspeito, não dera em nada.
Câmeras de segurança em duas lojas próximas gravaram um homem magro de macacão escuro caminhando, com a cabeça baixa, e segurando uma maleta. Ele havia desviado de repente em direção ao beco sem saída. Sem imagens de seu rosto, é claro.
Mel Cooper fizera uma análise da garrafa e encontrou, naturalmente, apenas as impressões digitais de Rhyme e de Thom, nem mesmo as de um estoquista de loja de bebidas nem as de um destilador escocês.
Nenhum outro vestígio na garrafa.
Sachs agora contava a ele: — Nada significativo, Rhyme. Exceto o fato de ser um exímio arrombador. Sem marcas de ferramentas. Usou uma arma de pressão, tenho certeza.
Cooper estava verificando o conteúdo dos sacos com as evidências coletadas.
— Nada de mais, nada de mais. — Um minuto depois, todavia, ele fez uma descoberta. — Um pelo.
— Excelente — comentou Rhyme. — Onde?
Cooper examinou as anotações de Sachs.
— Estava na prateleira onde ele batizou o uísque.
— E era um ótimo uísque — resmungou Rhyme. — Mas um pelo? Isso é ótimo. Só um detalhe: é dele, seu, meu, de Thom ou de algum funcionário de entregas?
— Vamos dar uma olhada. — O técnico retirou o pelo do rolo adesivo e preparou uma lâmina para a visualização ao microscópio óptico.
— Está com o bulbo? — perguntou Rhyme.
Um pelo pode fornecer o DNA, mas normalmente só se o bulbo capilar estiver acoplado.
Mas, nessa amostra, não estava.
Mesmo assim, o pelo pode revelar outros fatos sobre o suspeito.
Relatórios toxicológicos e sobre o consumo de drogas (um pelo retém informações sobre o uso de drogas por meses). E a cor verdadeira do cabelo, é óbvio.
Cooper focalizou o microscópio e apertou o botão que coloca a imagem no monitor de alta resolução mais próximo. A fibra era curta, somente um resto de barba.
— Que inferno! — exclamou Rhyme.
— O quê? — perguntou Sachs.
— Isso é familiar para mais alguém?
Cooper balançou a cabeça. Mas Sachs deu uma risada suave.
— Semana passada.
— Exatamente.
O pelo não era do suspeito, mas do caso do assassinato em frente à prefeitura, um funcionário que morreu se defendendo de um assaltante. O resto de barba. A vítima havia feito a barba pouco antes de sair do escritório.
E às vezes isso acontecia: por mais cuidadoso que se pudesse ser com as provas, amostras minúsculas podiam escapar. Ai, ai.
A tela com o gráfico da espectrometria de massa surgiu. Cooper se concentrou e disse: — Consegui a análise da toxina: tremetol. Um tipo de álcool. Vem da Ageratina altissima. Não havia o suficiente para matá-lo, a não ser que bebesse a garrafa toda de uma vez.
— Não me dê ideias — disse Rhyme.
— Mas você teria ficado muito doente. Demência grave. Talvez permanente.
— Talvez ele não tenha tido tempo de colocar toda a dosagem dentro da garrafa. Sabe, é a dosagem que é letal, não a substância propriamente dita.
Todos ingerimos antimônio, mercúrio e arsênico diariamente. Mas não em quantidades que possam nos fazer mal. Ora, água pode te matar. Ao beber muita água muito rapidamente, o desequilíbrio de sódio pode fazer seu coração parar.
Então era isso, relatou Sachs. Nenhuma impressão digital, nenhuma pegada, nenhum outro vestígio.
Nem havia sido descoberta alguma outra pista próxima ou dentro do condomínio Belvedere. Ninguém tinha visto um homem vestido de bombeiro distribuindo café envenenado. Um grupo enviado para verificar as latas de lixo das redondezas não encontrara nenhum outro recipiente com a bebida adulterada.
Lon Sellitto ainda estava em situação crítica e inconsciente — e, consequentemente, incapaz de lhes fornecer qualquer informação adicional sobre o suspeito, embora Rhyme duvidasse do fato de que o suspeito pudesse ser tão descuidado a ponto de revelar qualquer coisa sobre ele mesmo enquanto distribuía o café contaminado.
Mel Cooper verificou com a equipe de pesquisa organizada por Lon Sellitto e descobriu que seus integrantes não conseguiram encontrar nada relacionado à mensagem numérica. No entanto, eles receberam algo. Um memorando havia chegado de outros oficiais de Casos Especiais que Sellitto havia “brifado”, verbo usado por ele, em relação à pesquisa sobre a centopeia vermelha.
De: Força-tarefa Suspeito 5-11
Para: Det. Ron Sellitto, Cap. Lincoln Rhyme
Re: Centopeia
Não tivemos muito sucesso na busca de ligações entre criminosos específicos no passado e o suspeito deste caso, em relação às tatuagens de centopeia. Descobrimos que: Centopeias são artrópodes da classe Chilopoda do subfilo Myriapoda . Elas têm um par de patas por segmento de corpo, mas não necessariamente têm cem patas. Podem ter somente vinte e quatro ou até mesmo trezentas. As maiores têm cerca de vinte e cinco centímetros de comprimento.
Somente as centopeias têm forcípulas, que são patas dianteiras modificadas, logo atrás da cabeça. Essas patas terminam em garras que fisgam a presa, e através de aberturas em forma de agulha injetam um veneno que paralisa ou mata.
Elas têm glândulas de veneno no primeiro par de patas, que formam um apêndice em forma de pinça sempre encontrado atrás da cabeça. Forcípulas não fazem parte da boca, embora sejam usadas na captura das presas, injetando veneno e segurando a presa capturada. Glândulas de veneno correm por um tubo quase até a ponta de cada forcípula.
Culturalmente, centopeias são representadas por dois motivos: primeiro, para intimidar os inimigos. A imagem de uma cobra com pernas, armada com presas que injetam veneno, evoca um dos medos mais primitivos dos seres humanos.
Encontramos esta citação de um budista tibetano: “Se você gosta de amedrontar os outros, será reencarnado em uma centopeia.”
Em segundo lugar, a centopeia representa a invasão de lugares aparentemente seguros. Centopeias farão suas casas em sapatos, camas, sofás, berços, gavetas. A teoria diz que o artrópode representa a ideia de que o que acreditamos ser seguro na verdade não é.
Nota-se que algumas pessoas têm tatuagens baseadas em A centopeia humana , um filme particularmente ruim e repulsivo em que três pessoas são costuradas juntas para formar o que o título sugere. Essas tatuagens não têm nada a ver com o artrópode centopeia.
— Parece uma redação ruim de vestibular — resmungou Rhyme. — Um monte de baboseira sem sentido. Mas pode imprimir e colocar no quadro.
A campainha da porta tocou, e ele se divertiu ao perceber que todos no ambiente entraram em alerta. Cooper e Sachs pousaram suas mãos em suas armas — o trauma da tentativa de ataque mais cedo. Rhyme duvidava que o suspeito fosse retornar, muito menos que iria anunciar sua chegada com a campainha.
Thom verificou a porta e deixou Ron Pulaski entrar na casa.
Ele entrou, notou que o semblante de todos era de preocupação e perguntou:
— E aí?
Contaram a ele sobre a tentativa de ataque.
— Envenenar você, Lincoln? Ai, cara.
— Está tudo bem, novato. Ainda estou aqui para atormentá-lo. Como foi a missão sob disfarce?
— Acho que correu tudo bem.
— Conte para a gente.
Pulaski contou como havia sido chegar à funerária, o encontro com o advogado, a relutância do homem em falar demais ou revelar seus clientes.
Um advogado. Interessante.
Pulaski continuou: — Acho que consegui convencê-lo. Eu chamei você de filho da puta, Lincoln.
— E foi bom para você?
— Sim. Me senti muito bem.
Rhyme soltou uma gargalhada.
— E então fiz o que você me disse. Dei a entender, não disse nada na verdade, mas sugestionei que trabalhava com Logan. E que havia estado em contato recentemente.
— Conseguiu um cartão?
— Não. E Weller não ofereceu. Ele estava escondendo o jogo.
— E você não quis forçar a barra.
— Gostei disso, do que acabou de dizer — comentou Pulaski. — Você solapou o meu clichê com outro clichê.
O menino estava mesmo ganhando confiança.
— Você conseguiu deduzir alguma coisa?
— Tentei verificar se ele era da Califórnia, mas ele não queria dizer. Mas estava bronzeado. Parecia saudável, careca, atarracado. Sotaque do sul. O nome era Dave Weller. Vou pesquisar sobre ele.
— Muito bom. Vamos ver qual é a próxima jogada dele. Senão, vou falar com Nance Laurel da Promotoria sobre uma intimação para levantarmos os documentos da funerária. Mas isso é em última instância; quero manter você na jogada o quanto pudermos. Ok. Não é um trabalho assim tão ruim, novato. Vamos esperar. E agora: para a tarefa da vez. Suspeito Cinco-Onze. Ele ainda tem que completar sua mensagem. “o segundo”. “quarenta”. “décimo sétimo”. Ele ainda não terminou. Quero saber onde vai atacar em seguida. Temos que nos mexer.
Rhyme se aproximou do quadro. As respostas estavam lá em algum lugar, pensava. Respostas para onde ele atacaria em seguida, quem ele era, qual seria o seu propósito em orquestrar esses ataques terríveis.
Mas essas respostas eram tão sombrias quanto os céus carregados de chuva e neve de Nova York.
Rua 52, Leste, 582
(Garagem do Belvedere)
Vítima: Braden Alexander – Não assassinado Suspeito 5-11
– Ver detalhes de cenas anteriores – 1,82m
– Máscara de látex amarela – Luvas amarelas – Possivelmente é o homem do retrato falado – Possivelmente usou macacão – Provavelmente do Meio-Oeste, West Virginia, das montanhas — algum outro cenário rural – Tinha um bisturi
Sedado com propofol – Como foi obtivo? Acesso a suprimentos médicos? (Nenhum roubo local)
Potencial cena do crime – Subsolo de garagem – Infraestrutura semelhante à dos outros crimes
RIFO
ConEd
Ligação de Comunicação de Emergência da linha Metrô Norte
Algemas
– Genéricas, não rastreáveis
Tatuagem
– Implantes – “17º” – Repleta de nicotina concentrada
Da família das solanáceas
Muitas localidades para rastrear
Vestígio de um saco plástico – Albumina humana e cloreto de sódio (cirurgia plástica em seus planos?) – “Número 3” escrito em um saco com caneta vermelha de tinta solúvel em água, normalmente usada para o tratamento da água, mas não em locações anteriores nem aqui, então pode ser um veneno para ataque futuro (entretanto fontes demais para encontrar)
Sidney Palace, Brooklyn Heights
(Apartamento de Pam Willoughby)
Vítima: Seth McGuinn – Não assassinado, ferimentos leves
Suspeito
– Tatuagem de uma centopeia vermelha – Confirmado que tinha uma máquina de tatuagem American Eagle – Enquadra-se nas descrições gerais dos ataques anteriores – Macacão
Sedado com propofol – Como foi obtido? Acesso a suprimentos médicos? (Nenhum roubo local)
Seringa hipodérmica descartável American Medical 30G – Usada principalmente em cirurgia plástica
Extrato tóxico extraído de uma Actaea pachypoda, ou erva-de-são-cristóvão – Cardiogênica
Nenhuma impressão digital
Nenhuma pegada (usou sapatilhas descartáveis)
Algemas
– Genéricas, não rastreáveis
Vestígios
– Fibra de alguma planta/algum diagrama de engenharia – Vestígio de cicutoxina, provavelmente de alguma cena do crime anterior
Casa de Rhyme
Suspeito
– Nenhuma impressão digital – Nenhuma pegada (sapatilhas descartáveis) – Talentoso arrombador de fechaduras (usou arma de pressão?)
Pelo
– Fio de barba, mas provavelmente de outra cena do crime
Toxina
– Tremetol extraído de Ageratina altissima
Ter deixado o uísque envenenado para Rhyme havia sido tão emocionante quanto Billy imaginara. Mais até, na verdade.
Em parte, pela necessidade de fazer toda a investigação criminal descarrilar. Mas também em parte pela emoção do jogo. Esgueirando-se para dentro da casa, bem debaixo do nariz do homem, enquanto ele e seus parceiros estavam na sala principal, assistindo à agitação no parque.
Homem de pele escura...
Passando pelo East Village, Billy refletia sobre como os Mandamentos englobavam quase tudo em relação à Modificação. Mas não cobriam algumas contingências. Como envenenar o especialista forense que antecipava tudo.
Ele agora estava em uma missão semelhante.
Estarás sempre pronto para improvisar.
Os moradores desta parte da cidade pareciam exaustos, sujos, distraídos e tensos. Após a viagem abortada ao hospital em Marble Hill, depois da fuga, ele havia sentido certo desprezo por aqueles nas ruas do Bronx, mas ao menos tinha observado muitas famílias fazendo compras, indo a lanchonetes, indo ou saindo de eventos escolares. Aqui, todos pareciam sozinhos. Pessoas, na maioria com 20 e poucos anos, com roupas de frio puídas e botas feias, protegendo-as do lodo cinza-amarelado. Alguns casais, mas até eles pareciam ter se formado por causa de uma fascinação sem fundamento ou por desespero. Ninguém parecia verdadeiramente apaixonado.
Sentiu pena mas também desprezo por essas pessoas.
Billy pensou, naturalmente, na Garota Adorável. Mas agora não se sentia triste. Tudo ficaria bem. Ele estava confiante. Tudo seria consertado. Ciclo completo.
A Lei da Pele...
Andou por mais algumas quadras até parar em frente a uma loja. A placa na porta indicava Aberto, mas não havia ninguém no interior, não na loja em si, embora, nos fundos do local, fosse possível ver uma sombra em movimento. Olhou em volta os pôsteres, as fotos e os quadros nas vitrines.
Super-heróis, animais, bandeiras, monstros. Slogans. Bandas de rock.
Milhares de exemplos de tatuagens.
A maioria tola, comercial e sem sentido. Assim como programas de TV
ou a publicidade da Madison Avenue. Ele mentalmente escarneceu da cafonice que estava sendo vendida ali.
Como a arte na pele havia mudado com o tempo, refletiu Billy. Tatuar era, nos tempos antigos, um assunto sério. Nos primeiros milhares de anos ou mais de sua existência, tatuar não era inicialmente ligado à decoração.
Até o fim do século XVIII, a arte no corpo era ritualística e ligada à religião e à estrutura social. Pessoas primitivas se tatuavam por várias razões práticas: definição de classe ou tribo, por exemplo, devoção a um deus ou outro. A arte também servia a outro propósito, vital: a identificação de sua alma para a entrada no mundo dos mortos; se não tivesse sido marcado em vida, você seria rejeitado pelo guardião das portas do inferno e teria de vagar pela terra após a morte, lamuriando-se por toda a eternidade.
Tatuagens também funcionavam como uma barreira que evitava que a alma escapasse do corpo (a origem das tatuagens de arame farpado e correntes tão comuns nos dias de hoje em pescoços e bíceps). E no topo da lista de razões pelas quais as pessoas se tatuavam era para abrir um portal para os espíritos do mal poderem sair do corpo, assim como vespas pela janela aberta de um carro — espíritos que, digamos, incitariam essas pessoas a fazer algo que elas não queriam fazer.
Obtendo prazer pelo sangue, por exemplo.
A Sala do Oleandro...
Seus pensamentos se esvaíram quando calçou as luvas de látex amareladas e abriu a porta, o que fez soar a campainha.
— Já te atendo em um minuto — avisou a voz lá dos fundos.
— Sem problema.
Billy deu uma olhada em volta da loja minúscula. As cadeiras, as macas no estilo cama de massagem para tatuagens no cóccix e no ombro, as máquinas, os tubos e as agulhas. De primeira linha. Olhou as fotos de clientes satisfeitos e concluiu que, mesmo que a maioria dos trabalhos da loja fosse uma porcaria, TT Gordon era um artista talentoso.
Tirando de sua mochila a agulha hipodérmica repleta de propofol, Billy inverteu a placa da vitrine para Fechado e trancou a porta. Ele andou em direção à cortina de contas brilhantes que separava a frente dos fundos da loja.
Há um momento, quando se está terminando uma mod complicada, em que se faz a pergunta: o trabalho foi um sucesso? Ou será que foram arruinados um pedaço de pele perfeitamente bom e possivelmente o futuro de alguma pessoa?
Era sobre isso que Billy Haven estava pensando deitado na cama em sua oficina na Canal Street esta manhã, relembrando-se de algumas de suas mods mais complexas. A última frase acabou de ser tatuada (sempre se fica tentado a continuar, mas é preciso saber quando parar). E se desliga sua Freewire ou sua American Eagle ou sua Baltimore Street ou sua Borg e se afasta, irritado e nervoso, analisando pela primeira vez o trabalho finalizado.
Inicialmente uma tatuagem é apenas uma massa indiscernível de sangue e vaselina e, se for extensa, um ou dois curativos antiaderentes.
Ah, mas embaixo, ainda irreconhecível, está a beleza a ser revelada em breve.
É o que se espera.
Assim como o doutor Moreau, retirando as bandagens de seus experimentos e encontrando uma criação bem-sucedida como uma linda mulher-gato, com olhos amendoados e pelo de siamês, cinza sedoso. Ou um homem-pássaro, com garras amarelas e plumagem de pavão.
A mesma coisa acontece com a Modificação. Na superfície — para a polícia, para os cidadãos de Nova York com um medo extremo de ir a porões —, os crimes pareciam um mistério. Alguns assassinatos, algumas torturas, algumas mensagens curiosas, localidades aleatórias, vítimas aleatórias, um assassino obcecado por pele e venenos.
Mas por baixo de tudo: o desenho perfeito. E agora era hora de subir a sangrenta cortina de gaze e bandagens da Modificação em toda a sua glória.
Ele jogou os lençóis e o cobertor de lado e se sentou, observando novamente a parte frontal de suas coxas.
ELA
LIAM
Billy tinha memórias boas e ruins ao olhar para os nomes. Mas, depois de hoje, ele sabia que as ruins iriam embora.
Seus pais, a Garota Adorável.
Seu relógio vibrou. Billy olhou para ele. Uma segunda vibração logo em seguida.
Billy se vestiu e passou a hora seguinte limpando a oficina: enchendo sacos de lixo com as roupas que usara nas cenas dos crimes, roupas de cama, guardanapos, toalhas de papel, talheres de plástico, pratos — tudo o que pudesse ser um lar para o seu DNA ou para impressões digitais.
Empurrou os sacos de lixo em um carrinho para fora, na noite fria e com neve — seu nariz sentiu uma pontada na primeira respiração na rua — e os colocou no meio-fio. Esperou. Três minutos depois o barulhento caminhão do Departamento de Saneamento parou e os funcionários saltaram da traseira, recolhendo o lixo de toda a escura e pequena rua.
Havia reparado a hora exata em que o caminhão chegava — para garantir que o lixo não ficaria na rua por mais que alguns minutos; ele aprendera que a polícia tinha o direito de verificar o lixo em vias públicas.
Com um barulho de transmissão e um suspiro de gás de escapamento, o caminhão desapareceu. As provas mais incriminatórias sumiram. Ele retornaria — talvez daqui a uma semana ou mais — para colocar fogo no local e destruir o resto. Mas, por enquanto, era o suficiente. Era bastante improvável que a polícia encontrasse a toca subterrânea tão cedo.
Com esse raciocínio — sobre a polícia —, ele pensou em Lincoln Rhyme.
Não havia escutado nada a respeito de o homem ter ficado doente por causa do veneno. O que o fez desconfiar de que o plano para impedir o grande antecipador não fora tão bem-sucedido quanto poderia ter sido.
Mas ele não havia conseguido pensar em nenhuma outra maneira de colocar o veneno na corrente sanguínea do homem. Uísque parecia a melhor opção. Talvez alguma outra coisa tivesse sido melhor.
Mesmo assim, como havia considerado anteriormente: haveria batalhas bem-sucedidas e outras sem êxito. Mas, na guerra da Modificação, ele venceria no fim.
Billy voltou ao apartamento e continuou a fazer as malas.
Ele caminhou de terrário em terrário. Dedaleira, cicuta, tabaco, trombeta. Havia desenvolvido um carinho pelas plantas e pelas toxinas que elas produziam. Folheou alguns dos desenhos que tinha feito.
Colocou-os na mochila junto ao caderno com os Mandamentos da Modificação. Embora tivesse escrito ao fim deles uma instrução que dizia Destruirás este livro, ele não conseguia fazê-lo. Talvez fosse porque os Mandamentos eram os meios de curar a dor que havia sofrido por causa da perda da Garota Adorável.
Ou talvez simplesmente porque fosse uma obra de arte maravilhosa, as frases tão cuidadosamente escritas com a letra elegante de Billy — tão intrincada quanto uma modificação de dez cores em uma pele branca e virgem usando mais de dez agulhas para o contorno e umas seis ou sete agulhas de sombreamento. Bonito demais para esconder do mundo.
Fechou o zíper de sua mochila e caminhou até a bancada de trabalho, guardando algumas ferramentas e um cabo de extensão para trabalho pesado dentro de uma sacola esportiva de pano. Colocou junto uma garrafa térmica grande e vedada. E depois pegou uma jaqueta de couro marrom-clara e um boné verde-escuro dos Mets.
Seu relógio vibrou. Logo depois, o segundo lembrete.
Hora de corrigir todos os erros deste mundo atormentado.
Lincoln Rhyme estava de volta ao salão.
Ele havia acordado várias vezes, lutando com o enigma das tatuagens.
Nenhuma luz veio à sua mente. Então voltara a dormir, acometido de sonhos sem sentido como a maioria era. Estava completamente acordado às seis da manhã e convocou Thom para uma rotina matinal acelerada.
Pulaski, Cooper e Sachs também estavam de volta e se amontoavam no salão, lutando contra os mesmos mistérios que se recusaram a se revelar quando deu meia-noite.
Rhyme ouviu o barulho de um celular e olhou para o outro lado do salão, vendo Pulaski retirar o aparelho do bolso. Era o pré-pago, não seu próprio iPhone, que vibrava.
O que significava algo da operação sob disfarce.
O jovem olhou para a tela. E aquele semblante de medo e ansiedade se formou. O policial havia trocado suas roupas do funeral, mas se vestira à paisana: jeans, uma camiseta e um suéter com gola em V azul-marinho.
Tênis de corrida. Não exatamente uma vestimenta de chefão da máfia, porém bem melhor que uma camiseta Polo e calças chino.
— É o advogado? Da funerária? — perguntou Rhyme.
— Isso mesmo — respondeu Pulaski. — Espero que ele deixe uma mensagem?
— Ele não vai deixar. Atende. Todo mundo, silêncio!
Por um momento Rhyme pensou que Pulaski fosse congelar. Mas os olhos do jovem se focaram e ele levantou o telefone. Por alguma razão, distanciou-se dos demais para que pudesse conduzir uma conversa mais ou menos privada.
Rhyme queria ouvir, mas havia delegado a Pulaski o trabalho de achar os parceiros do falecido Relojoeiro — inocentes ou mortais — e não era mais da alçada do cientista forense todo esse gerenciamento. Ele nem mesmo se encontrava em posição de dizer ao policial o que e como fazer as coisas. Rhyme era meramente um consultor; Pulaski era o agente da lei.
Após alguns minutos, Pulaski desligou e voltou.
— Weller quer me ver. Um dos clientes dele também.
Rhyme ergueu uma sobrancelha. Aquilo era ainda melhor.
— Ele está no Huntington Arms. Na 56, Oeste.
Rhyme balançou a cabeça. Ele não conhecia o hotel. Mas Mel Cooper pesquisou o local.
— Uma daquelas butiques no West Side.
Era ao norte de Hell’s Kitchen, o bairro da cidade — nomeado assim por causa da perigosa vizinhança na Londres vitoriana — que outrora fora um antro de crime infestado de bandidos. Hoje era a revitalização personalizada, embora ainda existissem blocos de cor decrépita. O hotel que o homem descreveu, explicava Cooper, ficava em uma quadra onde funcionavam restaurantes caros e hotéis.
— Vamos nos encontrar em meia hora — avisou Pulaski. — Como devo proceder?
— Mel, como são o bairro e o hotel?
O técnico acessou o Google Earth em um computador e o Departamento de Obras de Nova York em outro. Em menos de sessenta segundos ele passou para o monitor principal uma visão aérea da rua e uma planta do hotel propriamente dito.
Havia um pátio ao ar livre, na rua 56, que seria um ótimo local para vigilância se o tempo estivesse menos ártico, mas hoje a reunião aconteceria no interior.
— Sachs, podemos reunir uma equipe de segurança no lobby?
— Vou ligar. Vou ver o que posso fazer.
Após alguns minutos ao telefone, ela disse: — Não temos tempo a perder com os procedimentos. Mas consegui mexer uns pauzinhos no Departamento de Casos Especiais e o pessoal de lá está mandando dois agentes à paisana para o hotel em vinte minutos.
— Vamos precisar de uma operação maior, Pulaski. Você tem que ganhar tempo. Alguns dias. Como ele soava ao telefone? Ele fez parecer que era algo urgente?
Passando as mãos pelos cabelos loiros, o oficial disse: — Na verdade, não. Eu tive a impressão de que ele tem uma ideia para apresentar. Ele me disse para não estacionar em frente ao hotel caso eu fosse de carro. Parecia bem, sabe, misterioso. Não iria dizer nada ao telefone.
Rhyme olhou para ele.
— Você tem um coldre de tornozelo?
— De tornozelo... Ah, como arma reserva? Eu nem mesmo tenho uma.
— Não como reserva. Sua única arma. Pode ser que você seja revistado.
E muitos revistadores param nas coxas. Sachs?
— Vou dar um jeito — disse ela. — Uma Smith & Wesson Bodyguard 380. Tem um laser acoplado, mas não se preocupe com isso. Use as miras de ferro. — Ela enfiou a mão na gaveta e entregou a ele uma arma automática preta e pequena. — Eu coloco esmalte de unha nas miras. Fica mais fácil fixar o alvo quando a luz está ruim. Tudo bem se for rosa-choque?
— Posso lidar com isso.
Sachs entregou a ele um pequeno coldre de pano com uma tira de couro para afivelar. Rhyme lembrou que ela nunca gostara de Velcro para segurar suas armas. Amelia Sachs deixava pouquíssimo ao acaso.
Pulaski levantou o pé, apoiou-o em uma cadeira próxima e afivelou o coldre. Era imperceptível. Depois o oficial examinou a arma pequena e quadradona. Deixou um projétil na câmara e pegou outro com Sachs para repor o que estava no pente. Seis no corredor, um no quarto.
— De quanto é a força para o disparo?
— É pesado. Uns quatro quilos.
— Quatro. Ok.
— E é só de dupla ação. Seu dedo já está quase todo lá atrás antes de disparar. Mas ela é muito pequena. Deixe a segurança destravada. Ela precisa de uma força tão grande que não sei nem por que eles colocaram uma trava.
— Entendido.
Pulaski olhou para seu relógio.
— Tenho vinte e cinco minutos. Sem tempo para colocar uma escuta.
— Não tem mesmo — concordou Rhyme. — Mas a equipe de segurança vai ter microfones posicionados. Você quer um colete?
Balançou a cabeça negativamente.
— Eles vão notar isso mais rápido que a arma. Não, vou sem nada mesmo.
— Você tem certeza? — perguntou Sachs. — Isso é você quem tem que decidir.
— Tenho certeza.
— Você tem que enrolá-los, novato. Diga que quer vê-los novamente.
Seja evasivo e cauteloso, mas insista. Mesmo que seja em outro estado.
Vamos envolver o Fred Dellray. Reforço federal. Eles são bons com espionagem. E não vá a lugar algum com eles agora. Não conseguiremos manter os olhos em você.
Pulaski assentiu. Andou até a entrada e olhou para sua imagem no espelho. Bagunçou seu cabelo um pouco.
— Estou inescrutável o suficiente?
— Você é o epítome da inescrupulosidade — comentou Rhyme.
— Perigoso também — disse Mel Cooper.
O policial sorriu, colocou seu sobretudo e desapareceu pela entrada da casa.
— Nos mantenha informados — gritou o cientista forense.
Ao ouvir a porta abrir e o barulho do vento, Rhyme perguntou a si mesmo: e que tipo de pedido sem sentido foi esse?
Você consegue.
Ron Pulaski estava olhando por onde andava pelas calçadas da rua 50, Oeste, que estavam incrustadas de neve cinzenta e gelo ainda mais cinzento. Sua respiração parecia pequenas nuvens no ar gelado, e ele percebeu que estava com dificuldade de sentir seus dedos.
Uma força de quatro quilos para puxar o gatilho?, questionou, pensando na pistola Smith & Wesson Bodyguard em seu tornozelo. Sua arma padrão, uma Glock 17, precisava de uma força de um terço daquele peso. Claro que a dificuldade não era puxar o gatilho. Uma força de quatro quilos era facilmente aplicada por qualquer pessoa com mais de 6 anos. O problema era a precisão. Quanto mais difícil fosse puxá-lo, menos preciso seria o tiro.
Mas isso não terminaria em tiroteio, pensou Pulaski. E, mesmo que fosse terminar, a equipe de apoio estaria posicionada no hotel, pronta para, bem, apoiá-lo.
Ele estava... Meu Deus! A rua girou. Ele quase caiu sentado no chão, graças a uma placa de gelo que não tinha visto, respirando fundo devido à surpresa, um ar tão frio que queimava.
Odeio o inverno.
E então se lembrou de que nem inverno era ainda, mas somente o fim do outono.
Olhou para a frente, através da mistura de chuva e neve. Faltavam três quadras — quadras grandes, que cruzavam a cidade. Ele conseguia ver o hotel. Um disco vermelho de neon, parte do logo.
Aumentou o passo. Alguns dias atrás, ele, Jenny e as crianças passaram a noite diante da lareira por causa de um problema com a linha de gás do quarteirão. O frio se infiltrara, e ele tinha conseguido acender uma fogueira, com lenha de verdade e não Duraflame; as crianças de pijamas e próximas em sacos de dormir, e ele e Jenny em um colchão inflável. Pulaski havia contado as piores piadas — piadas de crianças — até os pequenos dormirem.
E ele e Jenny se abraçaram com força, até que o carinho do frio fosse embora por baixo de seus corpos conjugados. (Não, isso não, é claro, eles estavam com pijamas tão castos e cômicos quanto os das crianças.) Como ele queria estar com a família agora. Mas deixou tais pensamentos de lado.
Sob disfarce. Esse era seu trabalho. Seu único trabalho. Jenny era casada com Ron Pulaski, e não com Stan Walesa. As crianças nem existiam.
Nem mesmo Lincoln Rhyme ou Amelia Sachs existiam.
Tudo o que importava era encontrar os parceiros do falecido e não muito querido Relojoeiro. Quem eram eles? O que estavam tramando? E o mais importante: o assassino tinha um sucessor?
Ron Pulaski tinha uma opinião sobre o assunto, embora tenha decidido não dizer nada a Lincoln nem a Amelia por medo de parecer tolo se fosse provado o contrário. (O problema na cabeça. Atormentava-o dia após dia após dia.) Sua teoria era: o próprio advogado era o principal parceiro do Relojoeiro. E estava mentindo sobre nunca ter conhecido o homem. Ele parecia ser um advogado de verdade — haviam verificado. Tinha uma empresa em Los Angeles. (O assistente que atendeu o telefone disse que o senhor Weller estava em uma viagem de negócios.) Mas o site parecia suspeito — muito básico — e fornecia apenas um número de caixa postal, nenhum endereço comercial. Mesmo assim, isso era bem típico em um site de advogados de porta de cadeia, pensou Pulaski.
E qual seria o plano de Weller?
O mesmo que o de Pulaski talvez. Afinal, por que vir para Nova York para coletar as cinzas quando teria sido bem mais fácil e simples mandar por FedEx para a família?
Não, Pulaski estava ainda mais convencido de que Weller estava aqui em uma busca — encontrar outros parceiros do Relojoeiro, que fora uma espécie de mestre planejador mantendo vários projetos ao mesmo tempo, sem revelar a um grupo de colegas que os outros sequer existiam. Ele achou que...
Seu telefone vibrou. Pulaski atendeu. Era um oficial da polícia de Nova York da equipe que estava no hotel. Ele e seu parceiro estavam posicionados no lobby e no bar. Pulaski havia transmitido os detalhes sobre a aparência de Weller, mas o policial disfarçado relatou que não havia ninguém que se enquadrasse na descrição no saguão ainda. Contudo, ainda era cedo.
— Estarei lá em cinco, seis minutos.
— Positivo — disse o homem com uma serenidade que Pulaski achou reconfortante, e desligou.
Uma rajada de vento o atingiu. Pulaski apertou o casaco em volta do corpo. Não adiantou muito. Ele e Jenny conversaram sobre ir à praia, qualquer praia. As crianças estavam fazendo aulas de natação, e ele estava realmente ansioso para levá-las ao mar. Eles já tinham visitado alguns lagos ao norte do estado, mas ir a uma praia de areia, com ondas que quebram?
Cara, elas iriam ador...
— Olá, senhor Walesa.
Pulaski parou bruscamente e se virou. Tentou mascarar sua surpresa.
A três metros estava Dave Weller. O que estava acontecendo? Eles ainda estavam a duas quadras do hotel. Weller havia parado e estava debaixo do toldo de um pet shop que ainda não estava aberto aos clientes.
Pulaski pensou: seja discreto.
— Oi. Pensei que fôssemos nos encontrar no hotel. — E fez um sinal com a cabeça em direção à rua.
Weller não disse nada. Apenas olhou para Pulaski de cima a baixo.
— Que bosta de dia, né? — disse o policial. — Que saco. Tem chovido e nevado assim há quase uma semana.
Pulaski quase disse: “Não se vê esse tempo em Los Angeles”, mas ele não deveria saber que o advogado tinha uma firma — ou pseudofirma — na Califórnia. Claro que talvez fosse menos suspeito e mais inescrutável deixar Weller saber que ele havia feito seu dever de casa sobre o homem.
Difícil dizer.
Que inferno, esse negócio de disfarce, você tinha mesmo que pensar com antecipação.
Pulaski se juntou a Weller em frente ao pet shop, longe da chuva. Em uma vitrine, logo atrás dele, havia um aquário lodoso.
Uma praia, qualquer praia...
— Achei que assim seria mais seguro — declarou Weller, com aquele leve sotaque sulista mais uma vez.
É claro, Stan Walesa poderia estar questionando o porquê de segurança ser algo a se preocupar.
— “Mais seguro”?
Mas Weller não respondeu. Ele não usava chapéu e sua careca estava respingada com umidade.
Pulaski deu de ombros.
— Você dizia que tem um cliente que talvez fosse gostar de me conhecer.
— Talvez.
— Eu trabalho com importação e exportação. É disso que seu cliente precisa?
— Pode ser.
— E o que especificamente você tem em mente?
“Exatamente” teria sido melhor que “especificamente”. Caras durões não usariam palavras com tantas sílabas.
A voz de Weller desaparecia, muito difícil de ouvir por causa do vento.
— Sabe aquele projeto que o Richard tocou lá no México?
Pulaski sentiu seu estômago revirar. Isso estava ficando cada vez melhor. O homem se referia a uma tentativa de ataque a um policial mexicano do departamento de narcóticos há alguns anos. Logan havia orquestrado um plano elaborado para matar o federale. Isso era ótimo. Se Weller sabia disso, ele não era bem quem dizia ser.
Minha teoria...
— Claro, sei sim. Ele me disse que aquele cuzão do Rhyme fodeu com tudo.
Então o advogado sabia sobre o cientista forense, afinal.
— Mas Richard planejou tudo muito bem — ofereceu Pulaski.
— Sim, planejou sim. — Weller parecia mais confortável agora que Pulaski dera a ele alguns detalhes não públicos sobre Richard Logan. Ele se inclinou. — Bom, meu cliente pode estar interessado em conversar com você sobre aquela situação.
Seu cliente ou você mesmo?, cogitou Pulaski. Manteve seus olhos focados nos de Weller. Isso era difícil, mas ele não hesitou.
— E sobre o que você gostaria de conversar?
— Pode ser um interesse renovado em uma abordagem alternativa para a situação — respondeu Weller evasivamente. — No México. O senhor Logan estava trabalhando nisso quando morreu.
— Não estou certo sobre o que está falando — comentou Pulaski.
— Uma nova abordagem.
— Ah.
— É vantagem para todos.
— Que tipo de vantagem? — inquiriu Pulaski. Parecia uma boa pergunta.
— Significativa.
Aquela não parecia ser uma resposta particularmente satisfatória. Mas Pulaski sabia que era necessário jogar jogos como esse — bem, ele supunha, pois o que aprendera sobre missões sob disfarce em sua maioria veio de Blue Bloods e de filmes.
— Meu cliente está à procura de gente em quem ele possa confiar. Você talvez seja uma dessas pessoas. Mas teríamos que investigar mais sobre você.
— Vou ter que fazer o mesmo.
— Esperávamos por isso. E — continuou Weller devagar — meu cliente precisa de algo de você. Para mostrar seu comprometimento. Você consegue contribuir com algo?
— Que tipo de “algo”?
— Você precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro — respondeu Weller.
Então estavam pedindo para ele investir. Dinheiro. Bom. Muito melhor do que ter de lhes trazer a cabeça de um traficante rival para provar sua lealdade.
— Isso não é problema — declarou Pulaski com desdém, como se pudesse entrar em seu jato, voar para a Suíça e colher maços de dinheiro de seu banco privado.
— Quanto você estaria disposto a investir?
Isso era um enigma. Era difícil conseguir dinheiro-isca para operações de infiltração. Os oficiais de alta patente sabiam que sempre havia a chance de perdê-lo. Mas Pulaski não sabia quais eram os limites. O que fariam em Blue Bloods? Deu de ombros.
— Cem mil.
Weller assentiu.
— Essa é uma boa quantia.
Foi então que Pulaski pensou: como ele sabia que eu viria por esse caminho? Havia três ou quatro rotas possíveis de acesso ao hotel. E, cacete, como ele sabia que eu estaria a pé e não de táxi ou dirigindo? Mais cedo, Weller havia falado de estacionar em frente ao Huntington Arms.
Uma resposta seria que Weller, ou alguém, vinha seguindo Pulaski.
E haveria apenas uma razão para isso. Para pegá-lo numa armadilha.
Talvez Weller o tivesse visto saindo da casa de Rhyme e procurara informações sobre o dono da residência.
E aqui estou, sem a merda da escuta e a dois quarteirões da equipe de reforço, com uma arma no tornozelo, a milhares de quilômetros de distância.
— Então. Estou contente que isso esteja avançando. Vou ver os detalhes sobre esse dinheiro e...
Mas Weller não escutava. Seu olhar estava focado atrás de Pulaski, que virou ao mesmo tempo.
Dois homens sisudos com jaquetas de couro se aproximavam. Um de cabelo bagunçado, e o outro de cabeça raspada.
Quando repararam no olhar fixo de Pulaski, sacaram as armas e avançaram. O jovem policial virou e começou a correr. Ele conseguiu fugir por dois metros até que o terceiro criminoso saiu de trás do caminhão, onde já esperava, passou seu braço enorme em volta da garganta do patrulheiro e o pressionou contra a janela do pet shop.
Weller recuou. O brutamonte contratado deu uma coronhada na têmpora de Pulaski enquanto, dentro da loja, um tucano colorido numa gaiola extravagante alisava suas asas e assistia com desinteresse ao que acontecia lá fora.
Rhyme ligou para Rachel Parker e calhou de o filho de Lon Sellitto atender.
O rapaz havia chegado à cidade vindo da parte norte do estado de Nova York, onde trabalhava desde que se formou na Universidade do Estado de Nova York, em Albany. Rhyme se lembrava dele como um garoto bonzinho e quieto, apesar de ter alguns problemas de temperamento e acessos de raiva — algo comum entre filhos de agentes da lei. Mas aquilo foi anos antes; agora ele parecia firme e maduro. Num tom de voz sem o traço da nasalidade do Brooklyn de Lon, Richard Sellitto contou a Rhyme que o estado do pai permanecia o mesmo. Ainda em estado crítico. Rhyme estava feliz porque o jovem vinha fazendo tudo o que podia para dar apoio a Rachel e à ex-esposa de Sellitto, sua mãe.
Após desligar, Rhyme atualizou Cooper com as novidades — que na verdade não eram nada novas. Refletiu que esse talvez fosse o mais horrível aspecto de um envenenamento: a substância se embrenhava nas células, destruindo tecidos delicados ao longo dos dias e das semanas subsequentes. Balas podiam ser removidas, e feridas podiam receber pontos. Mas veneno se escondia, marcava seu território e matava a seu bel-prazer.
Rhyme agora voltava ao painel contendo as fotografias das tatuagens.
O que você está tentando dizer?, perguntava-se mais uma vez.
Um enigma, uma citação, um código? Rhyme sempre retornava à teoria de que as pistas se referiam a um local. Mas onde?
Seu telefone tocou de novo. Ele franziu o cenho ao ver o número no identificador de chamadas. Não o reconhecia.
Atendeu.
— Rhyme falando.
— Lincoln.
— Novato? É você? O que houve?
— Sim, eu...
— Por onde você esteve? A equipe está no hotel, onde você vai encontrar Weller. Ou onde deveria encontrá-lo. Eles estão a postos já faz uma hora. Você não apareceu. — E acrescentou severamente: — Você pode imaginar que estávamos um pouco preocupados.
— Houve um problema.
Rhyme ficou em silêncio.
— E...?
— Eu meio que fui preso.
Rhyme não estava certo do que havia acabado de ouvir.
— Como é que é?
— Preso.
— Explique isso.
— Não consegui chegar ao hotel. Fui parado antes.
— Eu pedi para explicar, não para confundir ainda mais.
Mel Cooper olhou para Rhyme, que balançou os ombros.
— Tem um agente da polícia estadual aqui. Ele quer falar com você.
A polícia do estado de Nova York?
— Coloque-o na linha.
— Olá, detetive Rhyme?
Ele não se deu ao trabalho de corrigir o cargo.
— Sim.
— Aqui é o agente Tom Abner da polícia estadual de Nova York.
— E o que está acontecendo aí, agente Abner? — Rhyme tentava ser paciente, apesar de ter a sensação de que Pulaski havia estragado a operação de infiltração e arruinado qualquer chance que eles tinham de conhecer mais sobre os sócios do falecido Relojoeiro. E, considerando a parte do “fui preso”, o erro deveria ter sido bem feio.
— Descobrimos que Ron é um patrulheiro do Departamento de Polícia de Nova York em situação regular, em função ativa. Mas ninguém na central sabia de qualquer operação sob disfarce da qual ele estivesse participando.
Você confirma que Ron estava trabalhando para você em uma operação?
— Eu sou um civil, agente Abner. Um consultor. Mas, sim, ele estava operando sob diretrizes da detetive Amelia Sachs, do Departamento de Casos Especiais. Uma oportunidade se apresentou subitamente. Não tivemos tempo de seguir os protocolos. Ron estava apenas estabelecendo contato inicial com um possível criminoso nessa manhã.
— Hum. Entendi.
— O que aconteceu?
— Ontem, um advogado chamado David Weller, residente de Los Angeles, nos contatou. Ele foi contratado pela família de um falecido, Richard Logan, o condenado que morreu.
— Sim. — Rhyme suspirou. E então todo o fiasco começou a ser revelado diante dele.
— Bem, o senhor Weller disse que alguém tinha ido até a funerária e estava fazendo várias perguntas sobre o senhor Logan. Ele parecia estar querendo conhecer familiares ou sócios que pudessem querer participar de alguma negociação ilegal que Logan havia iniciado antes de morrer. Eu sugeri jogarmos uma isca para ver o que o sujeito tinha em mente. O senhor Weller concordou em ajudar. Instalamos escutas nele e ele mencionou algum crime no México com o qual o senhor Logan havia se envolvido. Ron ofereceu dinheiro para participar de outra tentativa de assassinato do mesmo oficial. Assim que ele mencionou a quantia, avançamos.
Meu Deus. Do mesmo jeito que jogam a isca nos casos mais simples de prostituição.
— Richard Logan havia orquestrado alguns crimes bem complexos quando estava vivo — comentou Rhyme. — Ele não poderia estar agindo sozinho. Estávamos tentando descobrir quem eram alguns dos seus comparsas.
— Entendi. Mas seu policial aqui realmente estava passando dos limites de um policial disfarçado.
— Ele nunca participou desse tipo de operação antes.
— Isso não me surpreende. O advogado Weller também não ficou muito contente com a coisa toda, como pode imaginar. Mas não vai prestar nenhuma queixa formal.
— Diga a ele que agradecemos. Você poderia pedir para Ron me ligar?
— Sim, senhor.
Eles desligaram e, um momento depois, o telefone do salão tocou novamente. Era o telefone pré-pago de Pulaski.
— Novato.
— Desculpe, Lincoln. Eu...
— Não se desculpe.
— Eu não lidei bem com a situação.
— Não estou muito certo de que isso tudo realmente deu errado.
Houve uma pausa.
— O que você quer dizer?
— Soubemos de uma coisa: Weller e seus clientes, a família de Logan, não tem ligação alguma com qualquer dos comparsas do Relojoeiro, nem com os crimes planejados. Caso contrário, eles teriam apagado você.
— Acho que sim.
— Você foi liberado para ir embora?
— Sim.
— Bem, a boa notícia é que agora podemos deixar o Relojoeiro descansar em paz. Sem mais distrações. Temos um suspeito para pegar.
Traga essa sua carcaça de volta para cá. Agora.
Rhyme desligou antes que o jovem policial dissesse qualquer coisa.
Foi então que o telefone de Rhyme tocou e ele recebeu a notícia de que havia ocorrido um quarto ataque.
E, quando ele soubera que a morte acontecera num estúdio de tatuagem no centro de Manhattan, imediatamente perguntou em qual.
Ao ouvir a resposta de que — sem surpresa alguma — foi na loja de TT
Gordon, Rhyme suspirou e baixou a cabeça.
— Não, não — murmurou.
Por um momento os Pontos de Vista Sobre a Morte Número Um e Dois competiram entre si. Então o primeiro prevaleceu. Rhyme ligou para Sachs e a informou que ela teria mais uma cena de crime para analisar.
Amelia Sachs voltou da mais recente cena do crime no caso do Suspeito Cinco-Onze. O estúdio de tatuagem de TT Gordon, no East Village.
Entretanto, TT Gordon não era a vítima. Ele estava fora do estúdio quando o suspeito entrou, trancou a porta e seguiu até a sala dos fundos para realizar a sessão de tatuagem letal. O corpo era de um dos tatuadores que trabalhavam no estúdio, um homem chamado Eddie Beaufort. Sachs soubera através de Gordon que ele vinha do estado da Carolina do Sul e se mudara para Nova York havia alguns anos, fazendo nome no mundo da tatuagem.
— A gente devia ter deixado alguém cuidando do estúdio de tatuagem, Rhyme — disse ela.
— Quem teria pensado que ele estaria correndo risco?
Rhyme estava realmente surpreso que o suspeito havia localizado o artista. Como? Parecia improvável, mas possível que ele tivesse seguido Gordon quando o tatuador saiu da casa de Rhyme. Mas a comunidade da tatuagem devia ser pequena e a informação de que Gordon estava ajudando no caso devia ter chegado ao suspeito. Que devia ter ouvido e ido ao estúdio para matá-lo. Ao descobrir que TT não estava, talvez o assassino tenha apenas decidido deixar claro que era uma péssima ideia ajudar a polícia, e pegou como vítima o primeiro funcionário que encontrou.
Também já era hora de enviar outra mensagem.
Sachs descreveu a cena: Beaufort, deitado de barriga para cima. Sua camisa havia sido retirada, e o suspeito tatuara outra parte do enigma no abdômen dele. Ela removeu o cartão de memória de sua câmera e mostrou as fotos na tela.
Ron Pulaski, de volta da trágica missão disfarçado, permaneceu em frente à tela com os braços cruzados.
— Eles não estão em ordem numérica: o segundo, quarenta, décimo sétimo e o seiscentésimo.
— Bem observado — disse Rhyme. — Ele poderia ter seguido numericamente se quisesse. Ou a ordem aí é significativa ou ele quis misturar os números por algum motivo. E voltamos aos ordinais, não cardinais. Quarenta é o único numeral cardinal.
— Uma criptografia? — sugeriu Mel Cooper.
Essa era uma possibilidade. Mas havia combinações demais e nenhum ponto de referência em comum. Para quebrar um código simples no qual as letras são convertidas em números, pode-se começar com o entendimento de que a letra “e” é a que aparece com mais frequência na língua e atribuir previamente esse valor aos números que aparecem mais comumente no código. Mas ali havia pouquíssimos números — e estes eram combinados com palavras, o que sugeria que tais números não significavam nada além do que aparentavam ser, independentemente do quão misterioso fosse o significado.
Ainda poderia ser um lugar, mas esse número eliminava longitude e latitude. Um ou mais endereços?
— Beaufort não foi morto no subterrâneo — comentou Pulaski.
— Não, e a motivação do suspeito foi diferente nesse caso: matar especificamente TT Gordon ou pelo menos alguém do estúdio — frisou Rhyme. — Ele não precisava seguir seu modus operandi. Agora, vejamos o que mais você coletou, Sachs.
Ela e Cooper se encaminharam até a mesa de análises. Ambos calçaram luvas e colocaram protetores faciais.
— Nenhuma impressão digital nem marca de sapatos — começou Sachs. — O legista está com os resultados do exame de sangue. Eu disse a ele que precisávamos disso para ontem. Ele falou que estava com todo o seu foco nisso.
— Algum outro vestígio? — perguntou Rhyme.
Sachs indicou com o olhar vários sacos de coleta.
— Mel, analise-os — vociferou o cientista forense.
Enquanto Cooper pegava e examinava o conteúdo de cada um deles, Sachs analisava as outras fotos da cena. Eddie Beaufort, com as mãos amarradas às costas e deitado de barriga para cima, tal como as outras vítimas. Era evidente que ele havia sofrido incontinência gastrointestinal e vômito intenso.
O telefone tocou mostrando um número familiar na tela.
Sachs deu uma risada.
— Isso é o que eu chamo de “o mais rápido possível”.
— Doutor, aqui é Lincoln Rhyme — disse ele ao legista. — Qual é o resultado?
— Estranho, capitão. — Mencionando o antigo cargo de Rhyme. Isso sempre soava esquisito e familiar ao mesmo tempo.
— Estranho como, exatamente?
— A vítima foi morta com amatoxina alfa-amanitina.
— Cogumelo venenoso. Amanita phalloides, a cicuta-verde.
— Isso mesmo — confirmou o legista.
Rhyme conhecia bem. Esses cogumelos são notórios por três coisas: um cheiro como o do mel, um gosto bem agradável e a habilidade de matar com mais eficácia que qualquer outro fungo na Terra.
— E a parte estranha?
— A dosagem. Eu nunca tinha visto uma concentração tão alta assim.
Geralmente leva-se dias para morrer, mas ele durou, eu diria, cerca de apenas uma hora.
— E uma hora bem ruim — completou Sachs.
— Bem, isso é verdade — disse o legista, num tom indicando que não tinha pensado nisso.
— Alguma outra substância?
— Mais propofol. Assim como as outras.
— Mais alguma coisa?
— Não.
Rhyme franziu a testa e já ia desligar o telefone. Sachs se antecipou: — Obrigada.
— De na...
Clique.
— Continue, Mel — pediu Rhyme.
Cooper analisou outra amostra de vestígio no cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa.
— Isso é...
— Não diga “estranho” — explodiu Rhyme. — Já ouvi essa palavra o suficiente.
— Perturbador. Essa era a palavra.
— Prossiga.
— Nitrocelulose, dinitrato de dietilenoglicol, dibutil ftalato, difenilamina, cloreto de potássio, grafite.
Rhyme franziu o cenho.
— Quanto disso?
— Muito.
— O que é isso, Lincoln? — perguntou Pulaski.
— Explosivos. Pólvora, especificamente. Pólvora sem fumaça, fórmula moderna.
— Do disparo de uma arma? — perguntou Sachs ao técnico.
— Não. Alguns grãos inteiros. Antes da queima.
— Ele próprio coloca pólvora na munição que usa? — perguntou Pulaski.
Era um parecer sensato. Mas Rhyme pensou nisso por um instante e então disse:
— Não, acho que não. Geralmente só atiradores de elite e caçadores fazem isso. Nosso suspeito não deixou evidência alguma de que ele seja um desses dois tipos. Sem interesse algum por armas de fogo. — Rhyme olhou fixamente para as impressões do cromatógrafo a gás/espectrômetro de massa. — Não. Acho que ele está usando a pólvora pura para um dispositivo explosivo improvisado. — Suspirou. — Veneno não é o suficiente. Agora ele quer explodir coisas.
Rua St. Marks, 537
Vítima: Eddie Beaufort, 38 anos – Funcionário do estúdio de tatuagem de TT Gordon – Provavelmente não era a vítima inicial planejada
Criminoso: presumivelmente o Suspeito 5-11
Morte: envenenamento por amatoxina alfa-amanitina (vindo de Amanitas phalloides, cogumelos venenosos) inserido via tatuagem
Tatuagem diz: “o seiscentésimo”
Sedado com propofol – Como foi obtivo? Acesso a suprimentos médicos? (Nenhum furto local)
Algemas
– Genéricas, não rastreáveis
Vestígios
– Nitrocelulose, dinitrato de dietilenoglicol, dibutil ftalato, difenilamina, cloreto de potássio, grafite: pólvora sem fumaça
Planejando usar dispositivos explosivos caseiros?
— Você sabe como sou cético em relação à motivação para crimes.
Sachs não disse nada, mas um sorriso crescente evidenciou sua reação.
Guiando sua cadeira de rodas até o painel de evidências, Rhyme continuou:
— Mas há um momento em que é apropriado questioná-los, principalmente quando já foi construída uma base sólida de evidências, o que já fizemos. A possibilidade de uma bomba (atenção, a possibilidade) pode levar o caso para fora do âmbito criminoso psicopata. Talvez haja um motivo racional em andamento aí. O suspeito não está necessariamente satisfazendo sua profunda necessidade de ser melhor que o Colecionador de Ossos. Acho que ele tem algo mais calculado em mente. Sim, sim, isso pode ser bom — acrescentou, com entusiasmo. — Quero ver as vítimas novamente.
A equipe percorreu as listas dos painéis.
— Podemos tirar Eddie Beaufort da equação — indicou Rhyme. — Ele foi morto por estar no lugar errado na hora errada. Lon, Seth e eu fomos atacados para nos retardar. Houve quatro ofensivas planejadas e arruinamos duas delas: Harriet Stanton, no hospital, e Braden Alexander, no condomínio Belvedere. Duas foram bem-sucedidas: Chloe e Samantha.
Por que esses quatro ataques? — Rhyme sussurrou: — Que característica deles atraiu o suspeito?
— Não sei, Rhyme — disse Sachs. — Eles pareciam puramente aleatórios... Vítimas do acaso.
Rhyme fixou o olhar no quadro diante dele.
— Sim, as vítimas em si são aleatórias. Mas e se...
— ... os lugares não forem? — bradou Pulaski. — Será que ele fingiu ser um psicopata para afastar a atenção do fato de haver algo nas cenas que ele queira explodir?
— E-xa-to, novato! — Rhyme passou os olhos nos quadros. — Localização, localização, localização.
— Mas explodir o quê? E como? — perguntou Cooper.
Rhyme analisou novamente as fotos das cenas dos crimes. Então: — Sachs!
Ela ergueu uma sobrancelha.
— Quando a gente não estava certo sobre a origem do ácido hipocloroso, enviamos policiais de patrulha até as cenas, lembra? Para ver se havia sistemas de distribuição de cloro.
— Certo. A butique no SoHo e o restaurante. Eles não encontraram nada.
— Sim, sim, sim, mas não me refiro ao ácido. — Rhyme levou sua cadeira para perto do monitor, estudando as imagens. — Veja as fotos que você tirou, Sachs. Os focos de luz e as baterias. Você que os montou ali?
— Não, os bombeiros. — Ela franziu o cenho. — Achei que tivessem sido eles. Eles estavam lá quando cheguei. Em ambas as cenas.
— E o policial que, mais tarde, vasculhou o túnel atrás de cloro disse estar parado perto dos refletores de luz. Eles ainda estavam lá. Por quê? — Ele franziu a testa e pediu para Sachs: — Descubra quem os montou.
Sachs pegou o telefone e ligou para a Perícia Forense no Queens.
— Joey, Amelia falando. Quando os seus homens estavam analisando as cenas do Suspeito Cinco-Onze, eles levaram lâmpadas halogênicas para alguma delas? ... Não. — Ela acenava negativamente com a cabeça. — Obrigada.
Desligou.
— Eles nunca montaram aquelas lâmpadas, Rhyme. Não eram nossas.
Então ligou para um amigo no Departamento de Bombeiros e perguntou a mesma coisa. Após uma breve conversa desligou e relatou: — Não, não pertenciam aos bombeiros também. E os patrulheiros também não carregam essas lâmpadas nos veículos. Apenas o Serviço de Emergência, e o pessoal da unidade só chegou depois.
— Que inferno — gritou Rhyme —, aposto que haverá lâmpadas nos túneis sob o Belvedere.
Sachs:
— As bombas estão lá dentro, certo? Nas baterias.
Rhyme observou as imagens.
— As baterias parecem ser de doze volts. Dá para fazer lâmpadas halogênicas funcionarem em baterias muito menores que essas. O resto do compartimento está cheio de pólvora, tenho certeza. É brilhante. Ninguém questionaria a presença de lâmpadas e baterias no perímetro de uma cena de crime. Qualquer outro pacote seria reportado e examinado pelo Esquadrão Antibombas.
— Mas qual é o alvo? — perguntou Cooper.
O breve silêncio foi rompido por Amelia Sachs.
— Meu Deus.
— O que, Sachs?
— RIFO. — Ela retirou do bolso o que parecia ser um cartão de visitas. E se encaminhou rapidamente até as fotografias das cenas dos crimes. — Inferno, eu não vi isso, Rhyme. Perdi completamente.
— Prossiga.
Sachs tocou na tela.
— Vê aquelas caixas amarelas com RIFO escrito na lateral? Elas contêm cabos de internet, pertencem à Rede Internacional de Fibra Óptica. — Ela levantou o cartão. — E o edifício do lado oposto à cena do crime de Samantha Levine era a sede da RIFO. Ela trabalhava para eles. Eu interroguei o CEO da companhia logo após a morte dela. — Sachs abriu as fotos da cena do crime de Chloe Moore. — Ali. As mesmas caixas.
E havia outra caixa visível no túnel sob o estacionamento do condomínio Belvedere.
— No hospital, em Marble Hill, onde Harriet Stanton foi atacada, eu não fui ao subsolo vasculhar nenhum túnel — disse Sachs. — Mas aposto que haverá roteadores, ou seja lá o que forem, da RIFO por lá em algum lugar.
— Alguém quer explodir essas caixas — declarou Pulaski. Seu semblante finalmente ficou inescrutável. — Ei, pense bem. As quedas no sinal de internet? Os rumores sobre as companhias tradicionais de internet a cabo estarem sabotando o novo sistema de fibra óptica. Aposto que é isso.
— Nosso Colecionador de Peles pode pensar que é herdeiro do Colecionador de Ossos, mas, resumindo? Isso é apenas uma fachada — disse Sachs. — Ele foi contratado para transportar bombas de forma clandestina ao subsolo e destruir os roteadores da RIFO.
— O que aconteceria se elas explodissem? — perguntou Pulaski.
— Presume-se que toda a internet de Manhattan cairia — respondeu Cooper.
— Bancos — murmurou Rhyme. — E hospitais, polícia, segurança nacional, controle de tráfego aéreo. Ligue para Dellray e mande avisar ao Departamento de Segurança Interna. Estou calculando centenas de mortes e bilhões de dólares em perdas. Coloque o cara dos computadores na linha, o Rodney Szarnek. Agora.
Harriet Stanton voltava com seu marido, Matthew, vindo do Centro Médico de Upper Manhattan, em Marble Hill.
Estavam num táxi que mostrava — até então — cerca de dezessete dólares no taxímetro.
— Olha só — resmungou Matthew, olhando para o medidor. — Dá para acreditar? Vai estar em trinta quando chegarmos ao hotel. O metrô teria sido mais barato.
Matthew sempre fora um pouco resmungão. Depois do flerte com a morte — ou com o atendimento médico público de Nova York —, seu humor não havia melhorado.
Harriet, com sua postura sim-meu-amor, respondeu que, dada a vizinhança pela qual eles passavam no momento — o Bronx e o Harlem —, não seria melhor gastar aquele dinheiro?
— E olha o tempo lá fora.
Onde eles moravam, numa área remota de Illinois, o tempo podia ficar tão frio e úmido quanto ali. Só que não tão sujo, frio e úmido. Apodrecido, foi a palavra que veio à sua mente.
Matthew pegou a mão dela, o que era um jeito de dizer: você está certa, eu acho.
O relatório médico dele estava, se não limpo, pelo menos não tão ruim quanto poderia estar. Sim, o incidente havia sido um ataque cardíaco — ou, no termo elegante infarto do miocárdio —, mas não houve necessidade de cirurgia. Algumas medicações e um aumento lento e constante na quantidade de exercícios físicos dariam conta do recado, dissera o médico.
E aspirina, é claro. Sempre aspirina.
Harriet ligou para o filho, Josh, que estava no hotel, e pediu que ele pegasse as prescrições médicas do pai, deixadas pelo médico numa farmácia próxima. Matthew se recostou no assento traseiro do táxi e ficou observando a paisagem. Eram as pessoas que o interessavam, deduziu Harriet a partir do modo com que os olhos do marido dançavam de um grupo de passantes a outro.
O táxi os deixou em frente ao hotel. O lugar fora construído por volta dos anos 1930 e claramente havia anos que não passava por uma reforma.
As cores eram dourado, amarelo e cinza. As paredes velhas e as cortinas que já passaram por muitas lavagens tinham um desenho geométrico rudimentar, feio. O lugar a fazia se lembrar do Moose Lodge em sua cidade natal.
A decoração, junto do cheiro persistente de desinfetante e cebola, a deixou enervada. Mas talvez aquilo fosse apenas a frustração com o ataque cardíaco do marido, os planos atrapalhados. Subiram de elevador até o décimo andar, saíram e caminharam até o quarto.
Harriet sentiu que devia ajudar o marido a se deitar na cama ou, caso ele preferisse ficar acordado, entregar os chinelos para ele, levar roupas mais confortáveis e pedir comida. Mas Matthew fez um sinal dispensando-a — entretanto, com um sorriso no rosto — e se sentou à escrivaninha surrada, acessando a internet.
— Veja. Eu te falei. Quinze dólares por dia para usar a internet. No Red Roof é de graça. Ou no Best Western. Cadê o Josh?
— Pegando suas receitas médicas.
— Ele provavelmente se perdeu.
Harriet despejou uma leva de roupa suja na sacola, que ela levaria até a lavanderia de autosserviço no porão. Esta era uma coisa pela qual ela não pagaria, serviço de valet de hotel. Isso era ridículo.
Ela parou para se olhar no espelho, notando que sua saia marrom-clara não precisava ser passada e que o suéter marrom, preso à sua silhueta voluptuosa, estava quase sem nenhum pelo. Quase, mas não completamente. Foi catando vários pelos soltos e os jogando no chão; eles tinham três pastores-alemães em casa. Juntou três fios dos próprios cabelos, que estavam ficando brancos, e os prendeu ao coque.
Reparou que, na pressa de chegar ao hospital, havia colocado seu colar de prata do lado contrário e o ajeitou, apesar de as formas serem abstratas; ninguém teria reparado.
Então fez uma careta para si mesma; não seja tão fútil.
Deixando Matthew no quarto, andou pelo corredor com a sacola de roupa suja e pegou o elevador até o lobby. Estava cheio de gente. Esperou numa fila para o balcão da recepção para pegar umas moedas. Um amontoado de turistas japoneses se agarrou às suas maletas como garimpeiros protegendo suas pepitas de ouro. Um casal que parecia em lua de mel estava ali por perto, adorando um ao outro. Dois homens — gays, dava para notar — conversavam de forma entusiasmada sobre planos para a noite. Jovens músicos e suas jaquetas de couro, e com várias caixas surradas de instrumentos, passavam o tempo no lounge. Um casal obeso estudava atentamente um mapa. O marido usava shorts. Nesse clima. E aquelas pernas!
Nova York. Que lugar.
De repente, Harriet teve a sensação de que alguém a observava.
Procurou ao redor rapidamente, mas não viu ninguém. De qualquer modo, ficou com um sentimento de intranquilidade.
Bem, depois daquele problema no hospital, era natural que estivesse um pouco paranoica.
— Senhora? — ouviu ela.
— Ah, desculpe. — Virou-se para o balconista e trocou uma nota de dez.
Pegou o elevador para descer ao porão e seguiu as placas até a lavanderia, um espaço sem muita iluminação, salpicado por detergente derramado, cheirando a secador usado e panos quentes. Assim como o corredor, a lavanderia estava deserta.
Ela ouviu o clique, então o ronco do elevador subindo. Pouco depois ouviu o barulho de uma cabine retornando para o mesmo andar. Se fosse a mesma, havia ido apenas até o térreo.
Dois dólares para uma embalagem de detergente de uso único? Ela devia ter mandado Josh pegar uma garrafa de Tide na farmácia. Então se lembrou: não seja como Matthew. Não se preocupe com coisas pequenas.
Aqueles passos estavam vindo do elevador para cá?
Ela olhou rápido em direção à porta, da penumbra do corredor. O coração batendo um pouco mais rápido, as palmas das mãos ficando úmidas.
Nada.
Harriet enfiou as roupas dentro da máquina menos suja e colocou as moedas.
Então, novamente, passos, cada vez mais próximos.
Virou-se, olhando para o jovem de jaqueta marrom-clara e boné verde dos Mets. Ele carregava uma mochila e uma bolsa de pano.
Um momento de silêncio.
Então ela sorriu.
— Billy.
— Tia Harriet. — Billy Haven olhou em volta para ter certeza de que eles estavam sozinhos e entrou no cômodo. Colocou a bolsa no chão.
Harriet levantou as mãos, palmas viradas para cima. Como se estivesse chamando uma criança.
Billy hesitou, mas então se aproximou dela e se permitiu ser envolvido pelos braços da tia, os quais se fecharam ao redor dele em um abraço bem apertado. Ambos eram mais ou menos da mesma altura — ela com pouco menos de um metro e oitenta —, e Harriet manipulou o rosto de Billy com facilidade, beijando-o intensamente na boca.
Ela percebeu por um momento que Billy resistiu, mas então se entregou e retribuiu o beijo, tocando seus lábios com os dele, sentindo o gosto da tia.
Sem querer fazer aquilo, mas incapaz de parar.
Sempre fora assim com ele: relutante no começo, então se rendendo...
em seguida, uma dominação crescente conforme ele a colocava deitada de barriga para cima e arrancava sua roupa.
Sempre desse jeito, desde a primeira vez, mais de uma década atrás, quando arrastou o garoto até a sala de estudos sobre a garagem, a Sala do Oleandro, para suas tardes de encontros amorosos, enquanto Matthew estava ocupado com — a tia e o sobrinho às vezes faziam piada — sabe Deus o quê.
Como sempre — e de modo irritante —, Rodney Szarnek estava ouvindo uns rocks medonhos quando atendeu a ligação vinda da sala de Rhyme.
— Rodney, você está no viva-voz. Aqui é... Dá para desligar a música?
Isso se pudéssemos chamar de música aquela merda feita para bater a cabeça.
— Ei, Lincoln. É você, certo?
Rhyme se virou para Sachs e revirou os olhos.
Era provável que o ciberdetetive fosse parcialmente surdo.
— Rodney, temos um problema.
— Ok, diga lá.
Rhyme explicou sobre as bombas e onde elas provavelmente haviam sido instaladas — próximas a importantes roteadores da Rede Internacional de Fibra Óptica e sob a sede da empresa.
— Cara, isso é foda, Lincoln.
— Não tenho ideia de como vai ser a contagem de detonação. É provável que não consigamos abortar o processo antes que uma ou talvez todas elas explodam.
— Vocês vão evacuar esses lugares?
— Isso está em andamento nesse momento. São bombas de pólvora sem fumaça, e não explosivos plásticos, pelo que sabemos, então não acreditamos que vá haver muitas vidas em risco. Mas os danos à infraestrutura podem ser significativos.
— Ah.
O detetive não parecia preocupado. Será que estava verificando seu iPod em busca de uma nova playlist?
— Como posso ajudar? — perguntou ele por fim, como se o único propósito fosse preencher a crescente lacuna de silêncio.
— Para quem devemos ligar, quais precauções devemos tomar?
— Para quê? — perguntou o policial especialista em informática.
Jesus Cristo. Qual era a falha na comunicação?
— Rodney. Se. O. Dispositivo. Não. For. Desligado. A internet... Quais precauções devemos tomar?
Mais silêncio.
— Você está perguntando se as bombas destruírem alguns roteadores de fibra óptica.
Um suspiro de Rhyme.
— Sim, Rodney. É isso que estou perguntando. E a sede da RIFO.
— Não há nada a fazer.
— Mas e os serviços de segurança, hospitais, Wall Street, controle de tráfego aéreo, alarmes? Pelo amor de Deus, estamos falando da internet.
Algumas companhias de cabo contrataram um sabotador industrial para detonar os roteadores.
— Ah, entendi. — Ele parecia estar se divertindo. — Tipo um filme do Bruce Willis? As bolsas de valores quebram, alguém rouba um banco porque os alarmes estão desligados, sequestra o prefeito, já que a internet está fora do ar?
— Bem por cima, mas sim, isso.
— Olha, o sindicato das empresas a cabo versus o conglomerado da fibra óptica? Isso é notícia de ontem, águas passadas.
Não preciso de dois clichês de merda em sequência. Vá direto ao ponto.
Rhyme se enfureceu, mas em silêncio.
— Eles se detestam, a RIFO e os provedores tradicionais a cabo. Mas ninguém vai sabotar nada. Na verdade, em seis meses, a Rede Internacional de Fibra Óptica já vai ter comprado ou assinado acordos de licenciamento com as outras companhias a cabo.
— Então você não acha que eles tentariam explodir os roteadores da RIFO?
— Não. Mesmo se eles fizessem isso, ou se qualquer um os explodisse, teríamos uma interrupção de cinco a dez minutos em partes isoladas da cidade. Acredite, hackers chineses e búlgaros diariamente causam mais problemas que isso.
— Você tem certeza de que isso é tudo o que aconteceria? — perguntou Sachs.
— Ei, oi, Amelia. Ok, talvez vinte minutos. Os provedores de internet pensam nisso com antecedência, você sabe. Há tanta redundância no sistema que chamamos isso de dedundância.
Rhyme ficou irritado tanto com a piada ruim quanto com o fato de sua teoria ter ido por água abaixo.
— No pior caso, os sinais seriam rerroteados para servidores reserva em Nova Jersey, no Queens e em Connecticut. Ah, o tráfego ficaria mais lento. Não daria para assistir a pornô por streaming e jogar World of Warcraft sem que o sinal caísse, mas os serviços básicos continuariam funcionando. Vou ligar para os provedores e para o Departamento de Segurança Interna mesmo assim e dar um toque.
— Obrigada, Rodney — disse Sachs.
O volume da música subiu e em seguida a ligação ficou divinamente silenciosa.
Rhyme parou sua cadeira de rodas em frente aos quadros com as evidências e as fotos. Teve outro pensamento, desanimador. Estourou: — Foi uma péssima ideia pensar que Samantha Levine, da RIFO, era o alvo. Como o suspeito poderia saber que ela estava indo ao banheiro naquele instante e ficar esperando por ela? Descuidado. Estúpido.
A ideia de que sindicato dos provedores tradicionais de internet a cabo estavam destruindo a intrusa rede de fibra óptica havia sido boa — fazendeiros contra barões do gado. Como a maioria das teorias da conspiração, essa também era sedutora, mas, no fim das contas, uma bobagem.
Seus olhos se desviaram para as tatuagens.
1 7 o
Rhyme leu em voz alta.
Pulaski, ao seu lado, inclinou-se para a frente.
— E aquelas linhas onduladas.
— Concheadas — corrigiu Rhyme.
— Eu não sei o que “concheada” significa, a não ser por alguns trecos do mar que não têm gosto de nada a menos que você coloque tempero.
— A concha na qual os trecos do mar se encontram tem esse formato — resmungou Rhyme.
— Ah. Para mim só parecem ondas.
Rhyme franziu o cenho. Então falou em voz baixa: — E ondas que o TT Gordon disse que eram significativas por causa da escarificação. — Pouco depois: — Eu estava errado. Não é uma localização que ele está nos dando. Meu Deus! — gritou Rhyme.
Então hesitou e riu.
— O quê? — perguntou Sachs.
— Acabei de fazer uma péssima piada quando disse “Meu Deus!”.
— Como assim, Lincoln? — perguntou Cooper.
Ele ignorou a pergunta, clamando: — Bíblia. Preciso de uma Bíblia.
— Bem, a gente não tem uma Bíblia aqui, Lincoln — disse Thom.
— On-line. Ache uma on-line. Você está no caminho certo, novato.
— Estou?
Encostado na parede, com os braços cruzados, Billy assistia à sua tia Harriet — irmã de sua mãe — acrescentar sabão à máquina de lavar.
— Você viu alguém no lobby? — perguntou ela. — Estava preocupada que a polícia estivesse me seguindo. Senti algo.
— Não. Eu verifiquei. Com cuidado. Estive lá em cima por uma hora.
— Não vi você.
— Eu estava observando — disse Billy. — Não sendo observado.
Ela baixou a tampa e ele olhou para seus seios, suas pernas, seu pescoço. Memórias...
Billy sempre se perguntou se o tio sabia do tempo que passavam na Sala do Oleandro.
De certo modo, parecia impossível que o tio Matthew não soubesse nada sobre o caso deles ou seja lá como queira chamar isso. Como seria possível ele ficar alheio ao fato de os dois desaparecerem por horas durante as tardes em que ela não estava dando aula particular para as crianças da vizinhança?
E deveria haver uma troca de cheiros, cheiros de cada um dos corpos, do perfume e do desodorante.
O cheiro de sangue também, apesar de eles tomarem banhos demorados após cada conexão carnal vespertina.
Todo aquele sangue...
O Primeiro Conselho das Famílias Americanas tinha um componente religioso. Os dogmas não permitiam que integrantes usassem contraceptivos ou que abortassem, portanto Harriet “convidava” Billy para a sala em cima da garagem apenas durante aquele período do mês no qual era certo que não haveria gravidez. Billy conseguia controlar sua repulsa e, por algum motivo, a visão daqueles líquidos avermelhados excitavam Harriet ainda mais. Oleandro e sangue estariam conectados para sempre na mente de Billy Haven.
Tio Matthew talvez nem soubesse sobre aquele aspecto do corpo feminino. Isso não surpreenderia Billy.
Mas também, quando o assunto era seu desejo, Harriet Stanton conseguia olhar fundo nos seus olhos e fazê-lo acreditar em quase qualquer coisa. Billy não duvidava de que, seja lá qual história ela tenha inventado para o marido, ele havia acreditado inteiramente.
— Esse vai ser seu estúdio de arte — disse ela para um Billy Haven de 13 anos, mostrando-o pela primeira vez o quarto que ela decorara sobre a garagem separada de sua residência no sul de Illinois. Na parede havia uma aquarela de um oleandro que ele havia feito para ela, a flor predileta da tia (venenosa, é claro). — Essa é a minha gravura predileta. Vamos chamar aqui de Sala do Oleandro. Nossa Sala do Oleandro.
E Harriet o puxava pelo cinto. Brincando, mas com uma determinação obstinada.
— Espere, não, tia Harriet. O que você está fazendo?
Billy olhava para ela com horror; ali não apenas havia uma forte semelhança com sua mãe, a irmã de Harriet, mas a tia e Matthew eram seus pais adotivos. A mãe e o pai de Billy morreram de forma violenta, ainda que com heroísmo. Órfão, o garoto tinha sido acolhido pelos Stantons.
— Hum, acho que não quero, você sabe, fazer aquilo — costumava dizer o garoto.
Mas era como se não tivesse falado nada.
O cinto já havia sido tirado.
E assim começaram os anos sangrentos da Sala do Oleandro.
Na viagem para Nova York ocorrera um encontro entre eles: o dia em que Billy escapou do hospital — que ele não visitara para modificar outra vítima, mas para visitar sua tia, o tio doente e o primo Josh. Billy não estava com vontade de satisfazê-la. (O que era a coisa mais importante do sexo, para tia Harriet.) Mas ela insistira para que ele viesse ao hotel — Matthew estava no quarto e Josh havia saído para cumprir algumas tarefas. Josh sempre fazia o que a mamãe pedia.
Agora, com a máquina de lavar chacoalhando ritmicamente, Billy perguntou:
— Como ele está? Josh disse que ele parece bem. Só um pouco pálido.
— Que droga — disse Harriet, em tom azedo. — Matthew vai ficar bem.
Ele não pode ser cortês e simplesmente morrer?
— Seria conveniente — concordou o jovem. — Mas será melhor do modo que você planejou inicialmente.
— Acho que sim.
Melhor neste sentido: depois de eles terem terminado a Modificação aqui em Nova York, voltariam para casa no sul de Illinois, matariam Matthew e colocariam a culpa em algum negro ou latino incauto selecionado a esmo num restaurante popular em Alton ou a leste de St.
Louis. Matthew seria um mártir e Billy assumiria o Primeiro Conselho das Famílias Americanas, transformando-a em uma das melhores milícias do país.
Billy seria rei e Harriet a rainha. Ou rainha-mãe. Bem, ambos, na verdade.
O PCFA era uma das dezenas de milícias do país, todas pertencendo a uma aliança não estrita. Os nomes eram diferentes, mas os objetivos virtualmente idênticos: direitos estatais, municipais ou — o melhor de todos — de clã acima do federal, cortando toda propaganda liberal da mídia, cessar completamente a ajuda ou a intervenção em outros países, banimento da homossexualidade (não apenas casamento gay), criminalização do casamento inter-racial e apoio às doutrinas separatistas (e não necessariamente iguais) de raças, expulsando todos os imigrantes do país, um governo inspirado em Cristo com ensino em casa. Limitações acerca de práticas religiosas não cristãs.
Muitos, muitos americanos tinham essas crenças, ou algumas delas, mas os problemas que tais milícias encaravam para expandir seu rol de integrantes não eram suas crenças, mas sim o fato de serem comandadas por gente como Matthew Stanton — homens idosos e sem imaginação, que não despertavam interesse pela causa em ninguém a não ser em outros homens idosos e sem imaginação.
Não havia dúvidas de que o tio Matthew Stanton fora eficiente no passado. Ele era um conferencista e um professor muito carismático.
Acreditava do fundo da alma em Cristo e nos pais fundadores — aqueles devotos a Cristo pelo menos. Mas nunca alcançou um sucesso como o atentado de Oklahoma City. E sua abordagem proativa de luta pela causa era o mundano e ocasional assassinato ou mutilação de um médico abortista, a destruição de uma clínica ou um escritório do imposto de renda, ataques a trabalhadores imigrantes, muçulmanos ou gays.
Harriet Stanton, entretanto, muito mais ambiciosa que o marido, sabia que a milícia poderia perecer de vez dentro da próxima década a não ser que trouxesse sangue novo, novos métodos de convencimento e divulgação de sua mensagem política, atraindo um público mais jovem e antenado. A Modificação havia sido ideia dela — apesar de ter sido lentamente entregue a Matthew para fazer com que ele acreditasse que ele mesmo havia idealizado a coisa toda.
Quando Harriet e Billy deitaram no sofá da Sala do Oleandro, muitos meses atrás, ela explicara sua visão ao sobrinho.
— Precisamos de alguém no comando que possa gerar empatia nas novas gerações. Empolgação. Entusiasmo. Raciocínio criativo. Mídias sociais. Você vai trazer os jovens para cá. Quando você falar sobre a Lei, eles vão escutar. Os garotos vão idolatrar você. As garotas vão se apaixonar.
Você consegue induzi-los a qualquer coisa. Você vai ser o Harry Potter da causa.
“Depois que Matthew morrer, seu valor como líder vai chegar ao céu.
Podemos trazer centenas, milhares de jovens para a organização. Vamos tomar a Fronteira Patriota do Meio-Oeste. — Essa era uma milícia lendária, não muito distante da cidade natal do PCFA, comandada por dois líderes revolucionários. — E vamos continuar nos espalhando pelo país.”
Harriet acreditava que havia uma grande quantidade de americanos que odiava a direção pela qual o país estava seguindo e entrariam para o PCFA. Mas eles tinham de saber exatamente quais perigos estavam à solta — terroristas, islâmicos, minorias, socialistas. E precisavam de um líder jovem e carismático para protegê-los daquelas ameaças.
Harriet e Billy salvariam a todos.
Havia outro motivo para a jogada. Harriet possuía pouca força dentro dos atuais moldes do PCFA — visto que ela era, é claro, apenas uma mulher, a esposa do fundador do Conselho. Billy fazia parte de uma nova geração que acreditava que a discriminação da mulher fazia com que se desviassem de problemas mais importantes — segregação racial e nacionalismo.
Enquanto Matthew e seus iguais — o tipo caçador que fuma charuto — estivessem no poder, Harriet seria marginalizada. Isso era simplesmente inaceitável. Billy a fortaleceria.
Agora, na lavanderia, ele percebeu que Harriet o observava, e finalmente trocaram olhares. Aquele encontro de olhares era como o que ele se lembrara por anos. Quando ficava por cima dela, toda vez que Billy colocava o rosto no travesseiro, ela segurava seu cabelo e o puxava de volta até que se encarassem.
— Como andam as buscas da polícia? — perguntou ela.
— Estamos bem — respondeu Billy. — Os policiais são bons. Melhores do que antecipamos, mas eles engoliram a nossa descrição, aquela da fisionomia russa ou eslava, 30 anos, rosto redondo e olhos azul-claros. O oposto de mim.
Quando Amelia Sachs havia “resgatado” Harriet no hospital, a mulher criara um retrato falado falso, a fim de afastar os policias do sobrinho, que havia ido ao hospital não para tatuar outra vítima, mas para visitar Matthew.
Billy perguntou sobre o primo, se ele estava lidando bem com tudo isso.
— O Josh é o Josh — declarou Harriet distraidamente, o que resumia bem a relação mãe/filho dos dois. Então ela começou a rir feito uma colegial. — Nossa viagem para Nova York está sendo ótima, não? Não está bem do jeito que planejamos, mas acho que é para o melhor. Depois do ataque cardíaco, Matthew vai ser visto como fraco. Vai ser mais fácil para ele... partir, quando voltarmos para casa. Deus age de maneiras misteriosas, não?
A tia deu um passo à frente e segurou o braço de Billy. Com a outra mão, passou gentilmente os dedos pela face macia dele.
Uma luz piscou na máquina de lavar, e ela passou para outra etapa do ciclo. Harriet lançou um olhar crítico para o aparelho. Billy lembrou que em casa ela deixava a roupa secar naturalmente nos varais. Imaginou-os agora, pedaços de corpos, balançando com a brisa. Às vezes ela levava pedaços da corda do varal para a Sala do Oleandro.
Billy reparou que as mãos de Harriet estavam à altura dos cabelos e ela retirava as presilhas. A tia sorria novamente. Sorria de um jeito especial.
Agora? Ela estava falando sério?
Por que ele sequer perdia tempo em se perguntar? A tia Harriet nunca brincava. Ela caminhou até a porta da lavanderia e a fechou.
O som hipnótico da água batendo era o único ruído no cômodo.
Harriet trancou a porta. Então deu um tapa no interruptor e apagou a luz.
— Os esquadrões antibombas estão vindo — avisou Pulaski.
— Bom. E aí, encontrou, Mel?
Cooper havia aberto uma Bíblia on-line no monitor principal. Lia: — Exatamente como você disse, Lincoln. No livro de Gênesis.
— Leia.
— “No seiscentésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, naquele dia se romperam todas as fontes do grande abismo e se abriram as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites.” — Cooper ergueu o olhar. — Temos “seiscentésimo”, “o segundo”, “décimo sétimo” e “quarenta”. Estão todos lá.
— O outro livro! Eu quero o outro livro!
— Cidades em série? — perguntou Cooper.
— Qual outro, Mel? Não estou nem um pouco a fim de Proust, Anna Karenina ou Cinco tons de cinza.
— O nome é Cinquenta — corrigiu Pulaski, que recebeu um olhar de deboche em troca. — Só para informar. Não que eu tenha lido ou coisa parecida.
Amelia Sachs achou o livro sobre crimes reais, abriu e folheou o fino volume.
— O que devo procurar aqui, Rhyme?
— A nota de rodapé — respondeu Rhyme. — Estou interessado na nota de rodapé a respeito da nossa investigação sobre Charlotte, a mãe de Pam, e seu grupo de milícia de direita.
O ataque à bomba em Nova York que Charlotte havia planejado.
Sachs leu a longa passagem. Ela detalhava como Rhyme, o Departamento de Polícia de Nova York e o FBI investigaram o caso.
Rhyme desabafou: — Ok, nosso suspeito talvez tenha mesmo alguma afeição, digamos, pelo Colecionador de Ossos. Mas não era esse o motivo pelo qual o Cinco-Onze procurava pelo livro: ele queria entender nossas técnicas de rastreamento de grupos terroristas domésticos. E não os psicóticos. Essa foi uma suposição que eu fiz — disse Rhyme, cuspindo a palavra como se fosse uma obscenidade.
— Um grupo terrorista o contratou para fazer isso? — indagou Pulaski.
— Talvez. Ou talvez ele mesmo faça parte do grupo. E o alvo? — Rhyme apontou para as fotos do crime no subterrâneo. — Está vendo os canos? Os que estão marcados com DPA. Proteção Ambiental. Canos de água.
— Ondas, o dilúvio bíblico — disse Sachs. — Claro. Eles querem explodir a rede de encanamento de água da cidade.
— Exatamente. As cenas dos crimes ficam em lugares onde as enchentes causariam o maior estrago caso os encanamentos estourassem.
Rhyme se virou para Pulaski.
— Obrigado, novato.
— De nada. Mas ainda não tenho certeza do porquê.
— Porque você pensou que as cicatrizes em volta dos números eram ondas, e não conchas. E eram. Ondas! Isso me levou ao dilúvio e a Noé.
Agora temos um tema apocalíptico se desenvolvendo aqui. Isso muda tudo.
— Rhyme passou os olhos pelo quadro de evidências. Seus pensamentos profundos reverberavam como a chuva com neve que caía lá fora. — Bom, bom. Continuando.
— Como o criminoso saberia onde se localizariam os pontos vulneráveis, então? — perguntou Mel Cooper. — Os mapas das redes de tubulação são secretos.
Foi então que a mente de Rhyme deu um daqueles saltos misteriosos.
Eles não aconteciam com tanta frequência; a maioria das deduções são inevitáveis quando se tem fatos suficientes. Mas às vezes, raramente, uma ideia eclodia da mais tênue das conexões.
— A amostra da barba, a que você encontrou aqui, na prateleira, quando o Cinco-Onze estragou meu uísque single malt favorito.
— Achávamos que era contaminação direta, mas não era — comentou Sachs com brilho nos olhos. — A barba era mesmo do Suspeito Cinco-Onze quando ele invadiu aqui. Porque foi ele quem matou o trabalhador na semana passada.
— Para pegar as chaves do escritório — completou Rhyme.
— Por quê? Onde ele trabalhava? — perguntou Ron Pulaski.
— Departamento público, especificamente, Proteção Ambiental — balbuciou Rhyme. — Que gerencia o sistema de abastecimento de água. O suspeito invadiu e roubou os mapas das redes de encanamento para saber onde plantar os explosivos. Ah, e a fibra da planta baixa que o suspeito deixou na cena do crime no apartamento de Pam, quando ele atacou Seth?
Aquilo vinha dos mapas.
Rhyme olhou novamente para o mapa da cidade. Apontou para o enorme Aqueduto 3, o maior projeto de obra pública da história da cidade.
Era uma das maiores fontes de água do mundo. O túnel propriamente dito era muito profundo no subterrâneo para chegar a ser vulnerável. Mas havia enormes linhas de distribuição fluindo por ele espalhadas por toda a Nova York. Se fossem explodidas, bilhões de galões iriam jorrar pelo centro e por Lower Manhattan. O estrago seria muito maior do que qualquer furacão poderia causar.
— Liguem para o Departamento de Casos Especiais — ordenou Rhyme.
— E para o de Proteção Ambiental e para o prefeito. Quero o abastecimento de água interrompido imediatamente.
— Como você está se sentindo, tio Matthew?
— Estou bem — murmurou o homem. — No hospital podia-se contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que falava inglês. Deus tenha misericórdia.
Aquilo, Billy tinha certeza, não era um dado exato. E era típico da fama que o PCFA tinha de se livrar. O problema não era o fato de os empregados do hospital não falarem inglês; é claro que falavam. Era que falavam com sotaques carregados, e não muito bem. E isso, como a cor de suas peles, era prova de que vinham de culturas e nações que não representavam valores adequados. E que não se deram ao trabalho de assimilar a cultura americana.
— Bom, você está de volta e com boa aparência.
Ele mediu o velho com os olhos: oitenta e seis quilos, aparelho cardíaco levemente prejudicado, mas de resto saudável. Sim, parecia que ele viveria para sempre... ou até Billy colocar uma bala na cabeça do tio e depois plantar a arma na mão de mais algum trabalhador infeliz, iguais aos que Billy e algumas outras pessoas já espancaram até a morte com um taco de beisebol em “legítima defesa”.
— Ele está ótimo — comentou Harriet com sua voz suave como a névoa enquanto arrumava e dobrava a roupa de cama recém-lavada. — De volta ao normal.
— E aí, cara.
Joshua Stanton se juntou a eles, vindo do quarto da pequena suíte.
Sempre que Joshua ouvia vozes por perto, ele aparecia rapidamente, como se não pudesse conceber uma conversa sem a presença dele. Também devia ficar preocupado se as pessoas estavam falando coisas sobre ele, embora houvesse pouco a dizer sobre Joshua, a não ser que era um competente ajudante de encanador de 22 anos cujo talento verdadeiro era o de matar pássaros, veados e médicos que realizam aborto.
Mesmo assim, o homem ruivo e robusto era irritantemente confiável, fazendo de forma obstinada o que havia sido mandado e relatando seu progresso regular e copiosamente. Billy não tinha muita certeza de como ele havia encontrado uma esposa e conseguido ser pai de quatro filhos.
Bem, cachorros e salamandras eram capazes de fazer o mesmo. Embora então tivesse problemas para dissociar a imagem de Josh da de um lagarto.
Joshua abraçou o primo, coisa que Billy preferia que ele não tivesse feito. Não pelos germes; aquela transferência de resíduos de evidência.
Eu tento, monsieur Locard.
Não, Joshua não era exatamente um gênio. Mas ele havia sido uma peça-chave na Modificação. Após Billy ter matado as vítimas, e os corpos terem sido descobertos, Joshua, vestindo um jaleco de médico e usando máscara cirúrgica, aparecia rapidamente, empurrando um carrinho de mão com as luzes e as baterias que continham os explosivos, ligava tudo e desaparecia.
Ninguém suspeitava dele. Um especialista em emergências.
O jovem agora tagarelava sobre seu sucesso na farsa toda, e como conseguira esconder os dispositivos na cena do crime. Permanecia olhando para Billy em busca de aprovação, o que seu primo mais novo retribuiu na forma de um aceno com a cabeça.
Harriet olhou baixando a pálpebra para o filho, coisa que Billy sabia que significava “Fica quieto”. Mas Joshua perdeu a deixa. Continuou falando.
— Foi por um triz no Belvedere . Tipo, sério. Tinha polícia por todo lado!
Eu tive que descer por um outro bueiro que não estava no plano. Gastei mais seis minutos, mas acho que não teve problema.
Tia Harriet repetiu o olhar.
Matthew não precisava ter a paciência que as mulheres do PCFA eram obrigadas a fingir possuir. Ele soltou: — Cale a boca, filho.
— Sim, senhor.
Billy se sentia incomodado com a maneira como seus tios tratavam o filho. Matthew agia de forma absolutamente maldosa, e era patético como Josh se submetia àquilo. Quanto a Harriet, ela na maior parte do tempo o ignorava. Billy às vezes se questionava se ela havia levado o próprio filho para a Sala do Oleandro. Concluíra que não. Não por ter sido algo muito perverso, mas porque Josh não tinha o vigor para satisfazer as necessidades da mãe; até mesmo Billy só conseguia três vezes em uma tarde, e Harriet eventualmente se mostrava desapontada com isso.
Billy gostava de Joshua. Ele tinha boas memórias do tempo passado com o primo, praticamente seu irmão. Jogavam bola e brincavam de pega-pega porque achavam que deviam. Flertaram com meninas pela mesma razão.
Tentaram consertar carros. Por fim, em um momento de candura adolescente, ambos admitiram não gostar muito de esportes ou de carros e ser bem indiferentes quanto a namorar. Então procuraram atividades mais prazerosas — perseguir veadinhos e enchê-los de porrada. Imigrantes ilegais também. Ou até mesmo os legais (também não eram brancos).
Grafitavam cruzes nas sinagogas e suásticas em igrejas de negros.
Colocaram fogo em uma clínica de aborto.
O relógio de Billy vibrou.
— Está na hora. — Alguns segundos depois, outra vibração.
O tio Matthew olhou para a mochila e para a bolsa com ferramentas.
Anunciou:
— Vamos rezar.
A família ajoelhou, mesmo com Matthew um pouco debilitado, e Harriet e Joshua se posicionaram ao lado de Billy. Todos deram as mãos. Harriet pressionava a mão de Billy. Ela a apertou uma vez. Com força.
A voz de Matthew — um pouco fraca, mas ainda poderosa o suficiente para despedaçar o coração de um pecador — entoou: — Senhor, agradecemos por nos dar a sabedoria e a coragem para fazer o que estamos prestes a fazer, em Seu nome. Agradecemos pela visão que o Senhor projetou em nossas almas e pelos planos que o Senhor nos entregou. Amém.
O “Amém” ecoou pela sala.
Rhyme deslocava sua cadeira de rodas de um lado para o outro diante do quadro-branco em sua sala.
Ele passava os olhos pelo mapa da adutora que o Departamento de Proteção Ambiental havia acabado de lhe enviar através de um servidor seguro e voltava às evidências. O Aqueduto 3 e todas as suas conexões estavam diagramados com clareza.
— Nosso esquadrão antibombas está na butique e no restaurante — anunciou Ron Pulaski. — O Exército já mandou gente para o terceiro local, o condomínio Belvedere .
— Eles estão chamando muita atenção? — perguntou Rhyme, um pouco desatento. — Todas as sirenes e luzes ligadas?
— Eu...
— Estão evacuando a parte central da cidade? — interrompeu Rhyme.
— Eu pedi para o prefeito dar ordens para uma evacuação.
— Eu não sei.
— Bom, coloque no telejornal e descubra. Thom! Onde...?
— Estou aqui, Lincoln.
— O noticiário. Preciso da TV no noticiário! Eu te pedi.
— Você não pediu. Você pensou que pediu. — O ajudante ergueu a sobrancelha como uma reprimenda.
— Talvez eu não tenha pedido — resmungou Rhyme. O melhor pedido de desculpa que Thom receberia. — Mas liga essa merda agora!
No canto, a TV Samsung deu sinal de vida.
Rhyme bateu o dedo na tela.
— “Extra”, “Últimas notícias”, “Acabamos de receber”, “Interrompemos nossa programação”. Por que não estou vendo nada disso? ... Estou vendo a merda de um comercial de seguradora de veículos!
— Não use seu braço para movimentos inúteis. — Thom mudou de canal.
— “... em uma coletiva de imprensa dez minutos atrás o prefeito disse aos cidadãos de Manhattan e do Queens que uma evacuação não seria necessária neste momento. Ele pediu para que as pessoas...”
— Sem evacuação? — Rhyme suspirou. — Ele podia ao menos ter evacuado o Queens. Eles podem ir para leste. Tem muito espaço em Long Island. Evacuação organizada. Ele poderia ter feito isso.
— Não seria organizada, Lincoln — comentou Mel Cooper. — Seria um caos.
— Eu sugeri anunciar uma evacuação. Ele me ignorou.
— O Departamento de Proteção Ambiental está ligando — avisou Pulaski, indicando com a cabeça o identificador de chamadas no monitor principal de uma das mesas de trabalho.
O celular de Rhyme também tocou. O código de área era 404. Atlanta, Georgia.
— Já estava na hora — resmungou. — Você se encarrega do pessoal do departamento de água, novato, e coordene com Sachs. Eu falo com os nossos amigos sulistas. Vamos nos mexer, pessoal! Só temos alguns minutos!
E apertou com força o botão para atender em seu aparelho, acarretando outro olhar de reprovação de Thom.
Trajando seu jaleco do Departamento de Proteção Ambiental e um capacete de segurança, Billy Haven parou em um cruzamento no centro de Manhattan, no lado leste, e levantou a tampa de um bueiro com um gancho, então desceu um pouco e girou a tampa pesada de volta, fechando o local.
Ele desceu até um piso de metal e começou a andar pelo túnel, sob a sombra de uma tubulação de água que reluzia com a condensação. O enorme tubo ligava o local da válvula principal do Aqueduto 3, na parte central de Midtown, a três subdivisões que supriam água para toda Manhattan e partes do Queens. Aproximadamente dezoito mil casas e lojas comerciais recebiam a água que passava por esses canos.
Billy trocava a bolsa de ferramentas de uma mão para a outra enquanto andava. Ela pesava cerca de vinte quilos. O conteúdo era tudo o que ele havia conseguido retirar da oficina na Canal Street: a furadeira, o kit de solda portátil, cabos elétricos e outras ferramentas, junto à volumosa garrafa térmica de aço. Ele não estava mais com sua máquina American Eagle. Aquela parte da Modificação já havia terminado. Não haveria mais tatuagens com veneno.
Embora a Lei da Pele ainda estivesse em vigor, é claro.
Ele verificou seu GPS, fez um ajuste e continuou andando.
O plano para a Modificação era complexo, como qualquer plano que devesse ser executado por um intermediário que o próprio Deus havia escolhido.
Os Mandamentos...
Na última cena, no estúdio de tatuagens de TT Gordon, a polícia teria encontrado vestígios de explosivos que ele mesmo havia plantado intencionalmente, e Lincoln Rhyme imediatamente estranharia isso.
Explosivos e veneno? Qual era a relação?
Os Mandamentos teorizavam que Rhyme pensaria: e se as tatuagens envenenadas fossem algo além de assassinatos aleatórios de um psicopata?
Eles analisariam os números nas tatuagens e chegariam ao dilúvio do Gênesis. Ele intencionalmente havia tatuado o artista de pele do Village com “o seiscentésimo” por último, porque teria sido muito fácil achar a passagem do dilúvio na Bíblia caso ele tivesse passado a mensagem na ordem certa.
No seiscentésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, naquele dia se romperam todas as fontes do grande abismo e se abriram as barreiras dos céus. A chuva caiu sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites...
E então terroristas domésticos retornaram a fim de plantar bombas e assim recriar o dilúvio, lavando os pecados dessa Sodoma.
Rhyme e Sachs iriam debater sobre onde estariam as bombas e perceberiam que, sim, claramente, estavam nas baterias das luzes das cenas de crime. Elas poderiam explodir a qualquer momento e levaria um tempo para o esquadrão antibombas conseguir quebrar as caixas lacradas e desativá-las, ou extrair os explosivos caseiros; o Departamento de Proteção Ambiental teria de tomar a drástica mas necessária medida de fechar a válvula do Aqueduto 3, restringindo o fluxo de água do cano pelo qual Billy agora passava ao lado.
Assim que isso acontecesse, a pressão no cano cairia para quase nenhuma.
O que lhe permitiria fazer um furo de apenas oito milímetros no ferro — um feito impossível se o cano estivesse ativo, pois a água que sairia pelo buraco atingiria a velocidade e a força cortante de um laser industrial.
Sem a pressão ele poderia, por fim, inserir no cano do sistema de abastecimento o que havia trazido na garrafa térmica de metal. O último veneno da Modificação.
Toxina botulínica, uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, era a substância mais venenosa do mundo. Meia colher de chá mataria facilmente toda a população dos Estados Unidos.
Ainda que normalmente seja muito difícil conseguir uma das substâncias mais tóxicas do mundo — como, digamos, venenos radioativos como o polônio e o plutônio —, a toxina botulínica é surpreendentemente fácil de se encontrar.
E temos de agradecer à vaidade por isso.
As bactérias são a base para o Botox, um relaxante muscular que alivia espasmos. No entanto, ela é mais conhecida pelos tratamentos cosméticos para suavizar a pele (suas propriedades tóxicas inibem a ação do neurotransmissor que gera rugas).
Os estoques dos esporos da bactéria são cuidadosamente vigiados, mas Billy havia localizado uma fonte e invadido uma empresa fornecedora de materiais para cirurgias cosméticas no Meio-Oeste. Além de uma boa seleção de drogas e material hospitalar, ele conseguiu roubar esporos suficientes para criar uma fábrica de toxina botulínica, que vinha silenciosa e discretamente produzindo a bactéria, a toxina e mais esporos.
A ideia de transformar em arma uma substância tão encantadoramente letal não era nem um pouco original, evidentemente. Mas ninguém havia feito ainda — por uma razão bastante simples. A contaminação era quase impossível. A toxina deve ser ingerida ou inalada ou mesmo ser inserida na pele por membranas mucosas ou feridas abertas. O simples contato com a pele não é o suficiente. Como é bem difícil disseminar uma grande quantidade de toxina em aerossol, isso significava que um ataque somente poderia acontecer através de comida ou água.
Mas sal, calor, substâncias alcalinas e oxigênio podem matar a bactéria.
Assim como o cloro, que é adicionado ao fornecimento de água da cidade de Nova York, em conjunto com o flúor, um aditivo anticáries, o ortofosfato, para eliminar a contaminação por chumbo, e o hidróxido, que aumenta a alcalinidade do suprimento.
Porém, Billy havia aprendido a fazer uma fórmula concentrada de toxina botulínica que fosse resistente ao cloro. Sim, parte da toxina injetada na rede de abastecimento de água seria destruída, ou seus efeitos letais reduzidos, mas a estimativa era de que a maior parte sobreviveria e seria espalhada por todas as casas de Midtown, de Lower Manhattan e do Queens. O total de mortos seria de mais ou menos quatro mil pessoas; o número de doentes ou severamente contaminados seria muito maior.
Um grupo em particular seria fortemente afetado: crianças.
Envenenamento por botulismo na infância ocorre com alguma frequência (às vezes em crianças abaixo de 1 ano que tenham ingerido mel contaminado por esporos). Billy havia considerado tais mortes e não se sentia atormentado por elas. Era uma guerra, afinal de contas. Sacrifícios tinham de ser feitos.
A cidade reagiria rapidamente, é claro, com os departamentos de Saúde e de Segurança Interna correndo para descobrir a causa da doença. Haveria um atraso quando oficiais suspeitassem de agentes químicos de gases nervosos — os sintomas são parecidos — e com sorte os agentes de saúde começariam a injetar atropina e pralidoxima, que, na verdade, potencializam a força letal da toxina botulínica. Alguns diagnosticariam miastenia grave. E começariam a administrar soro, fariam exames de fezes e, por fim, uma espectrometria de massa para confirmar o que de fato era a doença.
Mas até lá, é claro, o estrago já teria sido feito.
Uma consequência secundária, que causaria um dano muito maior, se não fosse letal, também fora previsto pela Modificação: a cidade logo encontraria a fonte da toxina, mas não saberia quanto veneno já estaria disseminado. O Bronx também corria perigo? Nova Jersey ou Connecticut?
A única coisa que as autoridades poderiam fazer — os governos absolutamente incompetentes em esferas federal, estadual e municipal — seria interromper por completo o abastecimento de água. A cidade de Nova York, sem uma gota para beber, nem uma gota para escoar o esgoto. Ou para limpar. Ou gerar eletricidade (a maior parte da eletricidade da cidade vinha de geradores e usinas que usavam turbinas movidas a vapor). O East River e o Hudson virariam o Ganges, uma fonte de água para o banho, para a evacuação, para beber... e para pegar doenças.
Uma praga, e não um dilúvio, destruiria a cidade.
Mas o sucesso do plano dependia de um último fator: o fechamento da válvula no centro de Manhattan, o que permitiria a Billy inserir o veneno. E, se isso não acontecesse, a Modificação falharia. Os reservatórios e os aquedutos mais altos — de fácil acesso — eram monitorados em tempo real quanto à presença de qualquer tipo de toxina; o plano exigia que o veneno fosse inserido no suprimento aqui, ao sul do Central Park, onde teoricamente era impossível comprometer o sistema que, consequentemente, nem sequer era vigiado.
Billy verificou seu posicionamento. Sim. Ele estava próximo ao melhor lugar para perfurar o cano.
Mas precisava da confirmação de que o abastecimento de água havia sido interrompido.
Vamos, pensou ele, vamos...
Impaciente.
A precisão era fundamental.
Finalmente seu celular apitou com uma mensagem. Billy olhou para baixo. Tia Harriet. Ela tinha enviado um link. Ele tocou na tela e virou o telefone de lado para ler o artigo. A matéria tinha sido postada há um minuto.
ALERTA DE ATAQUE EM NOVA YORK
Sistema hídrico é alvo de terroristas não identificados
Autoridades de Nova York estão fechando o maior encanamento da rede de abastecimento de água de Manhattan, que supre a região sul do Central Park e o Queens, para prevenir o risco de uma enchente, em resposta a um suposto ataque terrorista.
Porta-vozes do Departamento de Polícia de Nova York, do Departamento de Segurança Interna e do FBI disseram em uma coletiva de imprensa conjunta que descobriram um esquema de detonação de explosivos caseiros plantados no subterrâneo para destruir parte do sistema hídrico.
Oficiais do esquadrão antibombas descobriram a localização de três dos explosivos. Estão realizando a evacuação das pessoas nos locais onde encontraram os dispositivos e começarão com o desarmamento das bombas.
É esperado que o sistema de abastecimento de água fique desligado por não mais que duas horas. Oficiais dizem aos moradores da região que não haverá necessidade de estocar água.
Ótimo. Está na hora de terminar e dizer adeus à cidade de Nova York.
Amelia Sachs sacolejava em seu Ford Torino em direção ao centro de Manhattan.
Já havia furado sete sinais vermelhos desde que se despediu de Rhyme.
Somente um deles a atrasou. Ela nem sequer percebia as buzinadas agressivas e os gestos furiosos dos outros.
Estava na Times Square: os gigantescos painéis de LED em alta resolução, os nova-iorquinos preocupados e os turistas maravilhados, as pontuais decorações do Dia de Ação de Graças e as antecipadas de Natal, os muambeiros amontoados, mudando o peso de um pé para o outro para não impedir a circulação.
Uma inocência radiante.
Sachs acelerou pela Lexington Avenue, e depois derrapou até parar enquanto uma fumaça azul vinda dos pneus subia ao seu redor. Ela fora instruída a parar aqui e esperar mais informações.
Seu telefone tocou e logo depois a voz de Pulaski ecoava pelo fone de ouvido.
— Amelia. Estamos com o DPA na outra linha. Eles estão verificando...
Espera. O técnico voltou. — Ela ouviu uns resmungos enquanto ele deixava o telefone de lado e falava em outro aparelho. Então sua voz aumentou. — Que merda significa “Os sensores não são tão precisos”? O que você quer dizer com isso? E, de qualquer forma, os sensores não são um problema meu. Eu quero a localização. Agora!
Sachs riu. O jovem Ron Pulaski finalmente fez jus à tutela de Rhyme. Um minuto depois ele voltou a falar com ela.
— Não sei qual é o problema, Amelia. Eles estão... Espera. Estou conseguindo alguma coisa aqui. — A voz ficou abafada novamente. — Ok, certo.
Olhou para as ruas. Inocência, pensou outra vez. Empresários, consumidores, turistas, crianças, músicos, trapaceiros, predadores, gente das ruas — a arrebatadora e singular mistura humana que é a cidade de Nova York.
E sob seus pés, em algum lugar, um dos piores ataques terroristas da história da cidade estava sendo conduzido.
Mas onde?
— Ok, Amelia, o DPA tem uma resposta para a gente. Eles cruzaram informações das taxas de fluxo ou sei lá. De qualquer modo, tenho uma localização. Uma sala de acesso quatrocentos metros ao sul da válvula do Túnel 3. Há um bueiro a uns quinze metros a leste do cruzamento.
— Estou perto.
Ela já estava soltando a embreagem e cantando pneu pela vaga assim como havia entrado nela, só que desta vez deixou a fumaça azul para trás.
Fechou um ônibus e um Lexus. Eles devem ter batido ao evitá-la. Sachs não parou, continuou seguindo para o sul. Problema do seguro, não dela.
— Chego lá em um minuto. — Depois corrigiu: — Ok, dois. — Ela fora forçada a pegar um pedaço da calçada novamente e teve de frear para gentilmente desviar de um carrinho de falafel no caminho.
— Vai se foder, tia!
Desnecessário, pensou ela, já que ele havia escapado ileso; ela devia ter derrubado o carrinho de uma vez.
Voltou às ruas raspando o metal no meio-fio. E acelerou mais uma vez.
Após Lincoln Rhyme ter concluído que o suspeito e seu grupo de terroristas domésticos estavam planejando explodir as adutoras, ele ficou pensativo. O descontentamento estava estampado em seu rosto.
— O que foi? — perguntara Sachs, notando que seus olhos vagavam pela paisagem da janela, as sobrancelhas franzidas.
— Sinto que alguma coisa não está certa nessa história toda. — Focou-se nela. — Sim, sim, detesto a palavra “sinto”. Não fique tão chocada. A conclusão é baseada em provas, em fatos.
— Continue.
Ele pensara um pouco mais, em silêncio, então tinha dito: — As bombas nas baterias estão cheias de pólvora. Você conhece armas, Sachs, você conhece munição. Você acha que elas explodiriam canos do tamanho dos que existem nos encanamentos?
Sachs pensara sobre isso.
— Verdade. Se eles quisessem mesmo estourar os canos, usariam cargas explosivas. Fragmentos perfurantes. Claro que fariam isso.
— Exatamente. Ele queria que encontrássemos as bombas. E, com os versículos da Bíblia, queria que acreditássemos que o alvo era o encanamento. Por quê?
— Para interromper o abastecimento — responderam quase simultaneamente.
Interromper o fluxo de água fechando as válvulas principais seria apenas um incômodo temporário.
— Quem se importa? Não pode ser esse o motivo do crime — comentara Rhyme.
E então havia alegado: mas o que realmente faria sentido seria levar as autoridades a cortar o abastecimento de água para baixar a pressão. O que permitiria que o suspeito perfurasse o cano e inserisse o veneno no sistema. E ele tamparia o buraco; Rhyme havia lembrado a equipe do equipamento de solda encontrado como evidência na cena do crime de Chloe Moore.
E o veneno, concluíra Rhyme, seria toxina botulínica — pois haviam encontrado vestígios do material nas empresas fornecedoras de suprimentos para cirurgias plásticas e nas seringas de Botox. Rhyme tinha pensado que as provas relacionadas à cirurgia plástica significavam que o suspeito planejava mudar de aparência. Mas também era possível que o propósito dos arrombamentos fosse roubar a toxina, cujos esporos eram mantidos em empresas médicas especializadas em produtos e suprimentos para cirurgia plástica. Havia concluído que a toxina botulínica tinha de ser o veneno; nenhuma outra era tão poderosa a ponto de causar uma devastação generalizada.
Rhyme tinha ligado para seu contato no FBI, Fred Dellray, e para a prefeitura, explicando suas suspeitas. Por sua vez, o prefeito e o chefe da polícia deram ordens para que o DPA anunciasse que estava fechando o sistema de abastecimento de água por algumas horas. Na verdade, mantiveram-no operando normalmente — visto que a pressão iria prevenir qualquer coisa de entrar na corrente de água dos canos. O DPA usaria os sensores da grade de canos para localizar qualquer vazamento, relatando à polícia exatamente onde o suspeito estaria perfurando o sistema.
Enquanto esperava impacientemente ao volante, com o motor roncando, o telefone de Sachs tocou outra vez. Era Rhyme.
— Cadê você, Sachs?
— Estou quase no local que o DPA indicou.
— Escute bem.
— E o que mais eu poderia estar fazendo? — resmungou ela. E se concentrou para evitar um ciclista idiota.
— Acabei de falar com o Centro de Controle de Doenças em Atlanta — continuou Rhyme. — Conferenciamos, me desculpe a escolha da palavra, com o Departamento de Segurança Interna e o pessoal de armas bioquímicas de Fort Detrick. É pior do que eu havia imaginado. Não vá até a área de acesso. Estamos juntando uma equipe de especialistas em materiais perigosos.
— Estou aqui, Rhyme. Agora. Não posso ficar parada, esperando. O assassino está bem embaixo de onde estou.
Sachs jogou o carro esportivo sobre a calçada, enxotando os pedestres que estavam no caminho. Eles saíram da frente; ela parecia furiosa demais para que eles argumentassem.
— Acabei de perceber que isso não é uma toxina botulínica qualquer — prosseguiu Rhyme.
— Essa sim é uma frase que não se escuta todos os dias, Rhyme.
— Ela foi modificada para ser resistente ao cloro. Por isso encontramos o concentrado de ácido hipocloroso, que ele estava usando para alterar a potência. Não temos ideia do quanto isso é poderoso.
— Vou usar máscara e macacão. — Correu para trás do carro, abriu o porta-malas e puxou seu kit criminal.
— Você vai precisar de todo o equipamento contra riscos biológicos — protestou ele.
Ela ligou o viva-voz, colocou o telefone no bolso e reforçou: — O suspeito sabe que ainda não cortamos o suprimento, a água ainda vai estar jorrando pelo buraco que ele abriu. Ele vai esperar o fechamento das válvulas, mas não vai esperar tanto tempo. Ele vai fugir, carregando sabe-se lá quanto dessa merda.
— Sachs, escute. Não se trata de arsênico ou Ageratina. Você não tem que beber ou comer. Um micrograma em uma membrana mucosa ou ferimento e você morre.
— Então não vou colocar o dedo no nariz nem ralar o joelho. Estou entrando, Rhyme. Ligo para você quando tiver limpado a cena e algemado o cara.
— Sachs...
— Dessa vez, tenho que entrar sem comunicação por rádio — declarou com firmeza e desconectou.
Amelia Sachs encontrou o caminho por onde o suspeito havia descido com facilidade: o bueiro perto da rua 44, próximo à Terceira Avenida, o mesmo que Pulaski havia mencionado.
Pegou a chave de roda que estava no porta-malas do Torino e usou para forçar o pesado disco de metal. Com isso conseguiu empurrar a tampa para o lado. Apontou sua Glock para o buraco completamente escuro.
Semicerrou os olhos e ouviu um barulho estridente — o cano que vazava, pressentiu. Colocou sua arma no coldre.
Bom, vamos lá. Vamos e vamos logo.
Enquanto estiver em movimento, eles não conseguem te pegar...
Graças aos procedimentos médicos recentes, sentia-se flexível como uma menina de 13 anos enquanto virava e descia a escada.
Pensando: estou usando um macacão branco e brilhante, que será iluminado pela frente e por trás.
O alvo perfeito para ele.
Estava descendo para o inferno. Praticamente deslizando pelo corrimão vertical como tinha visto marinheiros fazerem em algum filme na TV sobre submarinos, indo de deque a deque.
Tocou o chão do espaçoso túnel — aberto e absolutamente sem nenhuma proteção. Óbvio. Sacando sua arma rapidamente, moveu-se para a lateral, onde pelo menos era mais escuro e o suspeito teria um pouco mais de dificuldade em acertar um tiro letal. Agachou-se e varreu a área em cento e oitenta graus com a arma em punho, semicerrando os olhos para detectar ameaças.
O fato de ainda não ter usado a arma não a tranquilizava; ele ainda poderia estar próximo, com a mira apontada para ela esperando que qualquer outro policial adentrasse o local-alvo para então começar a atirar em todo mundo.
Mas, à medida que seus olhos se acostumavam com a escuridão, ela notou que aquela parte do túnel estava vazia.
Coração acelerado, respiração ofegante pela máscara, Sachs se focou na direção do ruído agudo, que agora era mais um som estridente. Lançou-se à parede do outro lado de onde ficava a câmara de acesso onde ele havia feito o furo no cano. Olhou rapidamente para baixo caso o suspeito estivesse virado para a entrada mirando em sua cabeça ou peito. Tudo o que conseguiu ver naquele relance de um segundo foram cortinas de névoa turbulentas em tons pastel, como a aurora boreal. Era iluminada por trás por uma fraca luz branca — talvez a que o assassino havia colocado para iluminar enquanto perfurava. Os lindos e hipnóticos redemoinhos vinham das partículas de água escorrendo dos canos.
Sachs estava relutante em fazer uma típica batida individual: olhando para o alto, entrando agachada, gatilho apertado com dois terços da pressão necessária para o disparo. Atire, atire, atire.
Aqui não. Ela sabia que tinha de capturá-lo vivo. Ele não estava na operação sozinho, não com planos tão elaborados. Precisavam prender também os outros integrantes do grupo.
Além disso, qualquer disparo poderia significar sua própria morte também; o cano e as superfícies de concreto do túnel facilmente ricocheteariam os fragmentos dos projéteis capeados com cobre por todos os lados.
Sem falar no que uma pistola 9mm faria com um frasco contendo a toxina mais letal do mundo.
Mais perto, mais perto.
Tentando enxergar pela cortina de névoa, procurando algum movimento de sombras, sombras em posição de abrir fogo. Sombras correndo com uma seringa hipodérmica cheia de propofol.
Para sua última sessão de arte na pele.
Mas nada além das dançantes partículas de vapor de água, refratando a luz com tanta beleza.
Dentro da câmara, disse a si mesma. Agora.
A nuvem se aproximou e evaporou, certamente em decorrência da brisa criada pela corrente de água. Boa cobertura, pensou ela. Como uma tela de fumaça. Sachs segurou a Glock com firmeza e, com o pé em posição perpendicular ao disparo, e não paralela, a fim de diminuir o alvo para o suspeito, entrou rapidamente na sala.
Um erro, logo percebeu.
A névoa era muito mais densa lá dentro e ensopou o filtro da máscara.
Ela não conseguia respirar. Uma reflexão que durou um instante. Sem a proteção, ficaria exposta à toxina botulínica. Com ela, desmaiaria pela falta de ar.
Não havia escolha. Tirou a máscara e a arremessou para trás, respirando o ar úmido, o qual acreditava ser composto somente, ela esperava, de água potável da cidade de Nova York e não veneno suficiente para matá-la em menos de cinco segundos.
Respira, respira...
Até então, nenhum sintoma. Ou balas.
Continuou em frente, passando a arma de um lado para o outro. À direita, ela via o enorme cano; a perfuração estava a cinco metros dali, presumiu, por uma vaga imagem de uma fina linha branca — a corrente de água — que jorrava da esquerda e acertava a parede oposta, a três metros do chão. O ruído estridente aumentava a cada passo.
O apito fez seus ouvidos latejarem de dor e ela temia ficar surda; a boa notícia era que isso também o ensurdeceria, e assim ele não a perceberia chegando.
Cheiro de concreto molhado, mofo e lama. A sensação levou Sachs de volta à sua infância, pai e filha no zoológico de Manhattan, em uma das jaulas, para répteis.
— Amie, está vendo aquilo? É a coisa mais perigosa que tem aqui.
Ela apertou os olhos, mas não conseguia ver nada além de plantas e pedras cobertas de musgos.
— Não estou vendo nada, papai.
— É uma leeren Käfig.
— Nossa! O que é? — Uma cobra?, pensou. Um lagarto? — É perigosa?
— É a coisa mais perigosa de todo o zoológico.
— E o que é?
— Significa “jaula vazia” em alemão.
E ela riu, balançando seu pequeno rabo de cavalo ruivo enquanto olhava para cima, para o pai. Mas Herman Sachs, o experiente oficial de patrulha da polícia de Nova York, não estava brincando.
— Lembre-se, Amie. As coisas mais perigosas são aquelas que não podemos ver.
E agora ela também não via nada.
Onde ele estava?
Continue andando.
Esgueirando-se e respirando tão fundo quanto podia, tentando não engasgar com a névoa no ar, ela adentrava a nuvem de vapor.
Então o viu. O suspeito Cinco-Onze.
— Meu Deus, Rhyme — sussurrou enquanto se aproximava. — Meu Deus.
Apenas depois de alguns instantes sem ouvir nada a não ser o zunido estridente de água que ela lembrou que o microfone e câmera estavam desligados.
Os especialistas de Fort Detrick chegaram ao local de helicóptero em apenas quarenta e cinco minutos.
Quando o veneno em questão é suficiente para matar uma grande porcentagem da população de qualquer grande cidade dos Estados Unidos, o pessoal da Segurança Interna não brinca em serviço.
Uma vez que ficou claro que o assassino não iria sair atirando em ninguém, Sachs fora gentil e enfaticamente ordenada a sair do túnel enquanto oito homens e mulheres, todos em elaborados uniformes contra riscos biológicos, começavam seu trabalho. Estava claro desde o princípio que eles sabiam o que estavam fazendo. Fort Detrick, em Frederick, Maryland, era a sede do Departamento de Pesquisas Médicas do Exército dos Estados Unidos, do Comando de Equipamentos e Suprimentos Militares e do Instituto de Pesquisa Médica em Doenças Infecciosas. Na verdade, se o prefixo “bio” e as palavras “guerra” ou “defesa” estivessem na mesma frase, Fort Detrick estaria envolvido de alguma maneira.
A voz de Rhyme pelo rádio: — O que foi, Sachs? O que está acontecendo? — Ela estava parada, morrendo de frio, na calçada enlameada perto da Terceira Avenida, onde havia estacionado o Torino.
— Eles já recuperaram a toxina botulínica. Estava em três seringas dentro de uma garrafa térmica. Já as colocaram em um veículo de contenção a vácuo.
— Eles têm certeza de que nada entrou na água?
— Absoluta.
— E o suspeito?
Uma pausa.
— Bom, a coisa foi feia.
O plano de Rhyme de fazer com que as autoridades anunciassem que o fornecimento de água seria interrompido teve uma consequência inesperada.
O Suspeito Cinco-Onze, que não vestia nada além de um macacão do Departamento de Proteção Ambiental, estava parado bem na frente do buraco que ia perfurar. Quando furou o encanamento, o fluxo de água, como uma serra elétrica, cortou-o na altura do peito, matando-o imediatamente. Quando caiu no chão, a água continuou a cortar sua cabeça e seu pescoço, separando-os.
Havia sangue, ossos e tecido por todo lado, algumas partes arremessadas na parede oposta, a muitos metros de distância. Sachs sabia que tinha de sair correndo de lá e deixar a equipe de biossegurança limpar o local, mas se sentiu obrigada, por curiosidade, a executar uma última tarefa: levantar a manga esquerda da camisa do suspeito. Ela tinha de ver sua tatuagem.
A centopeia vermelha a encarava com olhos interrogativos e humanos.
Era brilhantemente bem-feita. E completamente assustadora. Sachs chegou a estremecer.
— Qual é a situação da cena?
— O Exército está isolando tudo em um raio de duas quadras. Coletei as impressões digitais e o DNA do nosso suspeito, o material no bolso e bolsas que estavam com ele antes de ser expulsa de lá.
— Bom, traga o que puder. Ele não está trabalhando sozinho. E quem sabe o que mais eles têm em mente.
— Estou a caminho.
O noticiário na TV estava frenético, embora confuso.
Um ataque terrorista no sistema de fornecimento de água potável de Nova York, bombas caseiras...
Harriet e Matthew Stanton se sentaram na suíte do hotel. Seu filho, Joshua, estava sentado ao lado deles em uma cadeira, agitado. Mexendo incessantemente em uma daquelas pulseiras que os adolescentes usavam hoje em dia, até os meninos. Borracha colorida. Não era normal. Gay.
Matthew tentou fazer cara feia para que o filho parasse, mas Joshua mantinha seus olhos voltados para a TV. Bebia água de uma garrafa; a família havia trazido litros. Por razões óbvias. Ele fazia perguntas que seus pais não sabiam responder.
— Mas como eles sabiam? Por que Billy não ligou? Onde está, sabe, o veneno?
— Cale a boca.
Os comentaristas superficiais da mídia (os de cunho liberal e os conservadores, neste caso) diziam bobagens:
“Há diversos tipos de bombas e algumas são ditas mais devastadoras que outras. ”
“Um terrorista teve acesso a vários tipos de explosivos. ”
“A psiquê de um terrorista é complexa; basicamente, eles sentem uma necessidade de destruição. ”
“Conforme sabemos, por causa do recente furacão, água nas passagens subterrâneas podem causar problemas sérios. ”
Mas isso era tudo o que podiam dizer porque, aparentemente, as autoridades oficiais não estavam liberando nenhuma informação real.
Mais preocupante, pensava Matthew, era o que Josh estava remoendo.
Por que Billy ainda não havia mandado notícias? A última informação que tiveram, após saberem que a cidade havia interrompido o abastecimento de água e fechado as válvulas, foi a de que ele começaria a perfurar o cano.
A toxina botulínica estava pronta para ser injetada. E que ele já teria inserido a toxina na água em no máximo meia hora.
Os comentaristas da TV continuavam a ler tediosamente notícias sobre bombas e enchentes... Fatos que seriam como espinhas no rosto de um adolescente enquanto o verdadeiro ataque estava mais para um câncer.
Veneno para destruir a cidade envenenada.
As emissoras continuavam despejando repetidamente aquele purê de informações enlatado.
Porém nenhuma informação sobre pessoas ficando doentes. Ninguém vomitando até morrer. Ainda nenhuma menção ao pânico.
— Não teria como ele ter se envenenado, teria? — perguntou Harriet, roubando os pensamentos do marido.
Claro que teria. E, no caso, seria uma morte desagradável, talvez rápida.
Mas então ele seria um mártir da causa do Primeiro Conselho da Família Americana, acertaria um golpe em favor dos verdadeiros valores deste país e, o que não seria um acidente, solidificaria o papel de Matthew Stanton no movimento da milícia secreta.
— Estou preocupada — sussurrou Harriet.
Joshua olhou para a mãe e brincou com sua pulseira, do tipo usado pelos gays, mais um pouco. Pelo menos ele tinha tido filhos, refletiu Matthew. Um milagre, isso sim.
Ele ignorou tanto a esposa quanto o filho. Parecia inconcebível as autoridades terem descoberto o plano. O esquema elaborado — desenvolvido e refinado por meses — era tão detalhado como o manual de montagem de um trator John Deere. Eles executaram o plano exatamente como o previsto, cada passo no momento certo. Pontualmente.
E, pensando no tempo, ele agora se movia como uma geleira. Assim que cada âncora aparecia, e um novo repórter na rua começava a falar em um microfone obsceno, Matthew esperava mais informações. Porém ouvia a mesma história, só que reciclada. Nenhuma notícia de milhares de pessoas morrendo de maneiras horríveis saía da boca dos jornalistas predadores.
— Joshua — chamou Matthew. — Ligue de novo.
— Sim, senhor. — O jovem tateou o telefone e o deixou cair, olhou para cima pedindo desculpas, ruborizando.
— Esse é o seu pré-pago? — perguntou Matthew severamente.
— Sim, senhor.
Nunca recebera uma resposta atravessada de Josh, nunca. Billy era respeitoso, mas respondão. Joshua era uma lesma. Matthew acenou indiferentemente para o rapaz, que se levantou, afastando-se do barulho da TV.
“O Aqueduto número 3 é o maior projeto de construção da história da cidade. Ele começou... ”
— Pai? — chamou Joshua, balançando a cabeça negativamente. — Ainda nenhuma resposta.
Do outro lado da janela, sirenes faziam a trilha sonora daquela tarde deprimente. Todos os três no cômodo ficaram em silêncio, como se tivessem sido jogados em água congelante.
Foi quando uma âncora de jornal falou com voz lacônica: “... um pronunciamento da prefeitura sobre os planos terroristas... Os investigadores dizem que não se tratou de um bombardeio planejado por terroristas. O objetivo era introduzir um veneno no sistema de fornecimento de água potável de Nova York. A tentativa foi frustrada, o comissário da polícia nos informou, e a água permanece completamente segura. Há um imenso esforço coletivo para encontrar e prender os indivíduos responsáveis. Vamos agora falar com nosso especialista em segurança nacional, Andrew Landers, para entender mais sobre o movimento de terrorismo doméstico. Boa tarde, Andrew...”
Matthew desligou a TV. Colocou um tablete de nitroglicerina embaixo da língua.
— Ok, é isso. Vamos embora. Agora.
— O que aconteceu, pai? — perguntou Joshua.
Como se eu soubesse.
— O que aconteceu com Billy? — exigiu saber Harriet.
Matthew acenou para que ela se calasse.
— Seus telefones. Todos eles. Tirem as baterias. — E arrancou a capa traseira de seu celular enquanto Harriet e Joshua faziam o mesmo.
Jogaram-nas dentro do que os Mandamentos da Modificação chamavam de bolsa para incineração, mesmo que no fim das contas nada fosse queimado.
Jogue-as em uma lixeira distante do hotel. — Já! Vão fazer as malas. Só o essencial.
Harriet repetia: — Mas e Billy...?
— Eu disse para você fazer as malas, mulher. — Ele queria bater nela.
Mas não havia tempo para correções a esta altura. Além do mais, correções em Harriet muitas vezes não saíam como o planejado.
— Billy pode se cuidar sozinho. A matéria não disse que ele havia sido capturado. Disse somente que eles descobriram um plano. Agora. Mexam-se.
Cinco minutos depois, Matthew já tinha enchido sua mala e estava fechando o zíper da bolsa do notebook.
Harriet puxava sua mala de rodinhas pela sala de estar. Seu rosto era uma máscara intimidadora, quase tão perturbadora quanto a máscara de látex que Billy mostrara a eles, a que ele usava quando atacava as vítimas.
— Como isso foi acontecer? — perguntou ela, furiosa.
A resposta era: polícia. Era: Lincoln Rhyme.
Billy o tinha descrito como o homem que antecipava tudo.
— Quero descobrir o que aconteceu — vociferou Harriet.
— Depois. Vamos — gritou Matthew. Por que Deus quis que ele se casasse com uma mulher cheia de opiniões? Ela nunca iria aprender? Por que mesmo ele havia parado com as surras de cinto? Erro terrível.
Bem, eles escapariam, se reagrupariam e se esconderiam no subterrâneo mais uma vez. Bem no fundo do subterrâneo. Matthew esgoelou:
— Joshua, já fez as malas?
— Sim, senhor. — O filho de Matthew entrou cambaleando pelo cômodo. Seus cabelos dourados estavam de lado e seu rosto tomado por lágrimas.
— Você, aja como homem — disse Matthew rispidamente. — Me entendeu?
— Sim, senhor.
Matthew pegou a bolsa do notebook, empurrou a Bíblia de lado e tirou duas pistolas Smith & Wesson 9mm (ele jamais cogitaria comprar uma arma estrangeira, é claro). Deu uma a Josh, que pareceu relaxar um pouco quando a segurou. O rapaz se sentia confortável com armas; a familiaridade que elas ofereciam o tranquilizava. Pelo menos isso ele tinha de bom.
Armas, evidentemente, não eram coisa para mulher, portanto Matthew nem ofereceu uma a Harriet.
— Fique com a arma escondida — indicou ao filho. — E não a use, a não ser que eu use a minha. Espere minha deixa.
— Sim, senhor.
As armas eram uma mera precaução. Lincoln Rhyme havia impedido o plano, mas nada levava a Matthew e Harriet. Os Mandamentos os protegeram, isolando-os. Era como Billy explicara: as duas zonas em um estúdio de tatuagens, quente e fria. Nunca deviam se encontrar.
Então, estariam em seus carros e fora da cidade em trinta minutos.
Ele examinou a suíte do hotel. Não trouxeram muita coisa com eles — duas malas cada um. Billy e Joshua haviam trazido todos os suprimentos e os materiais pesados com antecedência.
— Vamos embora.
— Uma prece? — ofereceu Joshua.
— Sem tempo para isso, porra — explodiu Matthew.
Agarrando suas malas e puxando-as, os três seguiram para o corredor.
A boa notícia em usar um hotel como esconderijo para uma operação como esta era o fato de não precisarem limpar após o uso. Os Mandamentos de Billy já indicavam — o hotel gentil e convenientemente forneceria uma equipe de empregados para fazer isso por você, ainda que sem dúvida fossem imigrantes ilegais nojentos.
No entanto, ironicamente, quando pensou nisso, Matthew notou que as duas mulheres da equipe de limpeza, conversando próximas ao elevador perto de seus carrinhos com os produtos para o trabalho, eram brancas.
Que Deus as abençoe.
Com Joshua logo atrás deles, marido e esposa caminhavam pelo corredor.
— O que vamos fazer agora é ir para o norte — explicou Matthew sussurrando. — Já estudei o mapa. Vamos evitar os túneis.
— Bloqueios na estrada?
— Mas o que eles estariam procurando? — gritou Matthew, apertando o botão do elevador. — Eles não sabem quem somos, não sabem nada sobre nós.
Embora este não fosse bem o caso.
Enquanto Matthew impacientemente socava o dedo no botão do elevador, que se recusava a acender, as duas camareiras Que-Deus-asAbençoe-por-Serem-Brancas enfiaram a mão em suas cestas de roupa suja, puxaram metralhadoras e apontaram para a família.
Uma delas, a loira bonita, gritou: — Polícia! Pro chão! Deita no chão! Mãos atrás da cabeça, senão a gente atira.
Josh começou a chorar. Harriet e Matthew trocaram olhares.
— No chão!
— Agora!
Mais policiais chegavam por outras portas. Mais armas, mais gritaria.
Deus, como gritavam.
Depois de um momento, Matthew deitou.
Harriet, entretanto, parecia estar se questionando.
O que você está fazendo?, pensou Matthew. Deita, mulher!
Os policiais gritavam com ela para que fizesse o mesmo.
Harriet olhou para eles com frieza nos olhos.
Um deles esbravejou: — Estou mandando deitar agora!
Ela ia tomar um tiro. Quatro canos estavam apontados em sua direção e quatro dedos estavam posicionados no gatilho.
Com uma expressão de nojo ela deitou no carpete, deixando a bolsa cair.
Matthew ergueu uma sobrancelha ao notar uma arma caindo. Ele não sabia dizer o que o desapontara mais — ela estar carregando uma arma sem a sua permissão ou ser uma Glock, uma boa pistola, mas fabricada em outro país.
Mencione a palavra “terrorismo” e muitos norte-americanos, talvez a maioria, pensam em radicais islâmicos atacando o país por causa dos suspeitos valores autoindulgentes e apoio a Israel.
No entanto, Lincoln Rhyme sabia que aqueles muçulmanos extremistas eram uma minúscula fração das pessoas que mantinham birras ideológicas com os Estados Unidos e estavam dispostas a expressar seus pontos de vista de forma violenta.
A história do terrorismo doméstico é longa. A Revolta de Haymarket aconteceu em Chicago em 1886. Os escritórios do Los Angeles Times foram explodidos por radicais do sindicato em 1910. São Francisco foi abalada pelos bombardeios do Dia da Preparação, em protesto à proposta de adesão à Primeira Guerra Mundial. E uma bomba em uma charrete próxima ao banco J.P. Morgan matou dezenas de pessoas e feriu centenas em 1920.
Com o passar dos anos, a discórdia política e social que motivou esses atos continuou presente. Na verdade, os movimentos terroristas cresceram graças à internet, onde extremistas cujos ideais coincidem podem se reunir para tramar esquemas em relativo anonimato.
A tecnologia da destruição também evoluiu, permitindo que pessoas como o Unabomber pudessem aterrorizar escolas e instituições e evitassem ser descobertas por anos, e com relativa facilidade. Timothy McVeigh fabricou uma bomba de fertilizantes que destruiu um prédio do governo na cidade de Oklahoma.
Nos dias de hoje, Rhyme sabia que havia mais de vinte grupos terroristas domésticos ativos sendo monitorados pelo FBI e pelas autoridades locais, que variavam do Army of God (antiabortistas) à Nação Ariana (brancos, nacionalistas neonazistas) até o Phineas Priesthood (antigay, anticasamento inter-racial, antissemita e antitributação, dentre outros), para resumir, facções criminosas desorganizadas chamadas pela polícia de “bandas de garagem”.
As autoridades também mantinham um olhar cuidadoso sobre outra categoria de terror potencial: milícias privadas, com pelo menos uma em cada estado da União, com um total de integrantes de mais de cinquenta mil.
Esses grupos eram mais ou menos independentes, porém unidos por uma visão comum: acreditam que o governo federal é muito intrusivo e uma ameaça às liberdades individuais, apoiam pequenas ou nenhuma tributação, o cristianismo fundamentalista, têm um posicionamento isolacionista a respeito de política internacional, suspeitam de Wall Street e da globalização. Mesmo que nem todas as milícias escrevessem isso em seus estatutos, elas também abraçam na prática certas políticas como: racismo, nacionalismo, anti-imigração, misoginia e antissemitismo, antiaborto e anti-LGBT.
Um problema específico das milícias é o fato de, por definição, serem grupos paramilitares; elas acreditam fervorosamente na Segunda Emenda (“Uma Milícia bem-regulamentada, sendo necessária para a segurança do Estado livre, e o direto das pessoas em portar Armas, não deverá ser violada”). O que significava que, normalmente, estavam armadas até os dentes . Deve-se admitir que algumas milícias não são organizações terroristas e justificam que suas armas sejam somente para caça e defesa.
Outras, como o Primeiro Comando da Família Americana, de Matthew Stanton, obviamente pensavam de maneira diferente.
Por que a cidade de Nova York era um alvo particularmente saboroso, Rhyme nunca descobrira (curiosamente, as milícias deixavam até a capital Washington, D.C., em paz). Talvez fosse pelas outras características da Big Apple, que atraíam: gays, uma grande população não anglo-saxônica, centro da mídia liberal, sedes de tantas empresas multinacionais. E talvez eles achassem que as Rockettes e Annie disseminavam propaganda socialista subliminarmente.
Se Rhyme alguma vez somasse o número de criminosos que encarara ao longo dos anos, acredita que colocaria os malfeitores com transtornos de personalidade antissocial (isto é, os psicopatas) em primeiro lugar e depois os terroristas domésticos, muito mais numerosos do que conspiradores estrangeiros ou crime organizado.
Assim como o casal que ele estava prestes a interrogar: Matthew e Harriet Stanton.
Rhyme estava agora no décimo andar do hotel dos Stantons, junto de oficiais das operações do Serviço de Emergência da polícia de Nova York. A Unidade de Serviço de Emergência já havia vasculhado o local e não encontrara nenhum outro coconspirador. Rhyme e Sachs não esperavam mais ninguém. Os registros do hotel indicavam que apenas os Stantons e seu filho estavam hospedados lá. Claramente havia outro criminoso — o falecido Suspeito Cinco-Onze —, mas não havia provas de mais ninguém em Nova York. Com isso, após Rhyme e Sachs terem deduzido que os Stantons estavam envolvidos no ataque terrorista, Bo Haumann colocou uma equipe tática em ação para pegá-los.
O gerente do hotel havia alterado os elevadores para que não parassem no décimo andar e deslocou sua equipe para que a polícia pudesse evacuar os verdadeiros hóspedes do andar. E então mulheres oficiais da Unidade vestiram uniformes de limpeza, jogaram suas MP-7s dentro dos carrinhos de limpeza e ficaram esperando próximas ao elevador até que a família aparecesse.
Surpresa...
Nem um único disparo.
O esquadrão antibombas já havia liberado o local — sem armadilhas; na verdade, não havia restado muita coisa. Os terroristas tinham viajado com pouca bagagem. Sachs estava gerenciando a cena do crime.
Lincoln Rhyme mexia em seu iPad, lendo relatórios que foram enviados a ele nas últimas horas pelos agentes do FBI com base em St. Louis, o gabinete local mais próximo ao sul do estado de Illinois, lar dos Stantons e do Primeiro Conselho da Família Americana. O grupo estava no radar do FBI e da Polícia Estadual de Illinois — seus integrantes eram suspeitos de ataques contra gays e minorias e outros crimes de ódio, mas nada pôde ser provado. Na maior parte das vezes, parecia que as ocorrências eram bravatas.
Surpresa.
As autoridades no Meio-Oeste já haviam prendido três outros integrantes do PCFA por posse de explosivos e metralhadoras sem licença federal. E a busca por lá continuava.
Já sem seu macacão para perícia, Amelia Sachs se uniu a ele.
— Deixamos algo para trás? — Ele olhava para a caixa de papelão que ela carregava.
— Não muito. Muita água engarrafada.
Rhyme deu uma risada.
— Vamos ver se nossos amigos estão com vontade de ter um tête-à-tête.
— Um aceno com a cabeça em direção ao depósito de roupas de cama, onde eles estavam mantendo os Stantons até o FBI aparecer; os federais estavam assumindo o caso.
Eles foram até o local, a pé ou de cadeira de rodas, onde os prisioneiros eram mantidos algemados e amarrados. Os pais e o filho — seu filho único, Rhyme havia sido informado — olharam-no com uma determinação hesitante. Estavam sendo vigiados por três oficiais da polícia de Nova York.
Se os Stantons estavam curiosos para saber como Rhyme havia descoberto que eles estavam associados ao suspeito e que este era o hotel onde se hospedavam, eles não expressaram nenhum desejo de ouvir a explicação. E a resposta era tão embaraçosamente mundana, sem envolver nenhum tipo de análise minuciosa de provas. A mochila do Suspeito Cinco-Onze, recolhida junto a seu corpo próximo ao encanamento de água, continha um caderno intitulado A Modificação, uma lista detalhada de passos para colocar o veneno no sistema de água potável de Nova York.
Dentro dele, uma tira de papel com o endereço do hotel. Eles sabiam que os Stantons estariam lá; Harriet havia confirmado o fato para Sachs. Então, o suspeito e o casal se conheciam. O “ataque” no hospital não fora nada do que pareceu. O suspeito provavelmente havia ido ao local para visitar seu colega doente, Matthew Stanton, na ala cardíaca do hospital.
Pensando bem, havia pistas que poderiam levar à conclusão de que os Stantons estavam ligados ao suspeito. Por exemplo, as inscrições na sacola encontrada no condomínio Belvedere que continham os implantes diziam Número 3, sugerindo que o ataque a Braden Alexander fosse o terceiro.
Mas, se o ataque a Harriet Stanton tivesse sido legítimo, a anotação seria Número 4.
De modo similar, eles tinham encontrado traços dos cosméticos de Harriet em lugares onde o suspeito havia estado. Sim, ele tinha segurado a tia no hospital e poderia ter ocorrido a troca da substância, mas teria sido mínima. Era mais provável que tivesse adquirido os traços do cosmético por passar mais tempo em sua companhia. Também, Rhyme lembrou do andar em ziguezague das pegadas das sapatilhas descartáveis nas cenas do crime; o que sugeria que um cúmplice trouxera as luzes e as baterias depois dos assassinatos. Uma verificação com o hotel revelou que os Stantons estavam acompanhados pelo filho, Josh, um homem musculoso que certamente poderia ter carregado o equipamento pesado para os locais após seu primo terminar as tatuagens letais.
Mas às vezes o destino entra em curto-circuito.
Uma maldita tira de papel com o endereço, encontrada nos pertences do criminoso.
— Vocês conhecem seus direitos? — perguntou Sachs.
O policial atrás de Harriet Stanton acenou com a cabeça.
Com seu rosto pálido e de texturas opacas, Matthew Stanton disse: — Não reconhecemos nenhum direito. O governo não tem autoridade para nos conceder coisa nenhuma.
— Então vocês não vão ter problema nenhum em falar conosco — contrapôs Rhyme. Ele achou sua lógica impecável. — A única coisa que precisamos agora é a identificação de seu colega. O que carregava o veneno.
O rosto de Harriet se iluminou.
— Então, ele escapou.
Rhyme e Sachs se entreolharam.
— Escapou? — perguntou Rhyme.
— Não, ele não escapou — respondeu Sachs aos Stantons. — Mas ele não tinha nenhuma identificação com ele e a análise da impressão digital veio negativa. Esperamos que vocês cooperem e...
O sorriso de Harriet sumiu.
— Mas então vocês o prenderam?
— Pensei que vocês soubessem. Ele está morto. Ele foi morto pela corrente de água após ter perfurado o cano. Porque a pressão da água não foi desligada.
Fez-se um silêncio absoluto. Ele se desfez segundos depois, quando Harriet Stanton começou a gritar descontroladamente.
— Acabou — declarou Pam Willoughby, praticamente pulando nos braços de Seth McGuinn.
Ele estava à porta do prédio de Pam, em Brooklyn Heights. Seth tropeçou, rindo. Eles trocaram um longo beijo. O céu finalmente estava claro, e os fortes raios de sol, avermelhados no cair da tarde, repousavam sobre a fachada do prédio. Entretanto, a temperatura estava ainda mais baixa que há alguns dias, quando a chuva e a neve caíam do céu cinzento.
Eles entraram pelo hall e caminharam até o apartamento no primeiro andar, à direita. Nem mesmo um olhar em direção às escadas do porão, local onde Seth quase havia sido assassinado, diminuiu sua alegria.
Pam estava radiante. Já não sentia um peso nos ombros, sua barriga já não se comprimia como uma mola. Era o fim da provação. Ela poderia voltar para casa, finalmente, sem a preocupação de que aquele homem terrível que atacara Seth poderia voltar. De acordo com a mensagem de Lincoln Rhyme, o suspeito estava morto e seus comparsas foram presos.
Pam havia reparado imediatamente que não fora Amelia quem lhe dera a notícia.
Por ela, tudo bem. Ainda estava com raiva e não tinha certeza se um dia conseguiria perdoá-la por tentar desfazer seu relacionamento com sua alma gêmea.
Na sala de estar, Seth tirou a jaqueta e a jogou no sofá. Segurou a cabeça de Pam e a aproximou de si.
— Você quer alguma coisa? — perguntou ela. — Café? Tenho algum champanhe ou espumante, não me lembro. Está aqui há um ano. Acho que ainda está bom.
— Claro, café, chá. Algo quente. — Mas, antes que ela pudesse se levantar, Seth a pegou pelo braço e a examinou cuidadosamente, observando-a com expressões tanto de alívio quanto de preocupação. — Você está bem?
— Estou. Mas e você? Era você quem ia receber uma tatuagem daquele cara maluco.
Seth deu de ombros.
Pam notava que ele estava com problemas. Ela não conseguia imaginar como teria sido ser encurralado daquela maneira, sabendo que estava prestes a morrer. E morrer de forma tão dolorosa. Os noticiários informaram que os venenos usados pelo assassino foram selecionados por causa de seus efeitos agonizantes. Pelo menos parecia que Seth já não a culpava pelo ataque. Pam havia ficado profundamente magoada ao vê-lo se afastando dela depois do ocorrido. Abandonando-a, sem olhar para trás...
Isso quase foi mais do que conseguiria suportar.
Mas ele a havia perdoado. Tudo estava no passado.
Pam foi à cozinha, colocou a água para ferver e preparou o filtro na cafeteira.
— Mas o que exatamente aconteceu? — perguntou Seth. — Você falou com Lincoln?
— Ah. — Pam andou em direção à porta, sua expressão era séria. Ela afastou o cabelo que grudava em seu rosto devido à estática, entrelaçando-o e deixando-o cair pelas costas. — Foi terrível. Sabe o cara? O que atacou você. Não era um psicopata, não. Ele tinha vindo aqui para envenenar o suprimento de água de Nova York.
— Que merda! Então era isso? Bem que ouvi algo sobre água.
— Um daqueles grupos de milícias, como o que minha mãe estava envolvida. — Deu um sorriso torto. — Lincoln pensou que o assassino era obcecado pelo Colecionador de Ossos. Mas, veja só, não era nada disso; ele estava interessado no ataque que a minha mãe tinha planejado há alguns anos. Ele queria entender como Lincoln e Amelia conduziam uma investigação. Ah, e ele não ficou nada feliz ao perceber que não pegou essa pista. Lincoln, quero dizer. Ele fica com bastante raiva quando comete erros.
A chaleira elétrica apitou e Pam correu de volta à cozinha, enchendo a cafeteira. O barulho crepitante era reconfortante. Preparou o café do jeito que Seth gostava — duas colheres de açúcar e um pouquinho de leite. Ela bebia puro.
Pam trouxe as canecas e se sentou ao lado dele. Seus joelhos se tocaram.
— Quem eram eles exatamente? — perguntou Seth.
Ela tentou se lembrar.
— Eles eram do... Qual era mesmo o nome? O Primeiro Conselho da Família Americana. Alguma coisa assim. Nem soa como nome de milícia. — Pam riu. — Talvez tivessem contratado um relações-públicas para trabalhar a imagem do grupo.
Seth sorriu.
— Você já ouviu falar deles alguma vez quando se escondia com a sua mãe em Larchwood?
— Acho que não. Lincoln disse que os responsáveis por isso eram do sul de Illinois. Não muito distante de onde eu fiquei com a minha mãe. E lembro que minha mãe e meu padrasto às vezes se reuniam com pessoas de outras milícias, mas nunca prestei muita atenção. Eu odiava todos eles.
Odiava muito. — Sua voz baixou.
— Mas o tatuador, o assassino, ele está morto e os outros estão presos.
— Isso. Um marido, a esposa e o filho. Eles ainda não sabem quem era o cara no túnel, o que morreu. O tatuador.
— E você ainda não está falando com Amelia?
— Não — respondeu ela. — Não estou.
— Por enquanto.
— Por um bom tempo.
— Ela não gosta de mim.
— Não! Não é nada disso. Ela só é superprotetora. Amelia acha que eu sou uma bonequinha frágil. Sei lá. Meu Deus.
Seth colocou seu café na mesa.
— Tudo bem se falarmos sobre algo sério?
— Tudo bem, acho que sim.
Ok, o que era?
Ele riu.
— Relaxa. Só decidi que precisamos pegar a estrada o mais rápido possível. Imediatamente.
— Sério? Mas eu nem tirei meu passaporte ainda.
— Pensei que poderíamos ficar nos Estados Unidos por um tempo.
— Ah. Bem, é que eu pensei que fôssemos conhecer a Índia. Depois Paris, Praga e Hong Kong.
— E nós vamos. Mas não agora.
Pam refletiu sobre isso, mas então olhou para seus intensos olhos castanhos encarando-a. E disse: — Ok, amor, é claro. Onde quer que você esteja, é lá que eu quero estar.
— Eu te amo — sussurrou Seth. Ele lhe deu um beijo intenso, que ela retribuiu, abraçando-o.
Pam se inclinou, tomou um gole de café.
— Quer beliscar alguma coisa? Eu bem que gostaria. Pizza?
— Ok.
Ela se levantou e andou até a cozinha novamente, abrindo a porta da geladeira. Pegou uma pizza e a colocou em cima do balcão.
Então se encostou na parede, sentindo suas entranhas se retorcerem, o coração batendo acelerado.
Pensava: como Seth sabia sobre Larchwood? Ela desesperadamente se recordou do tempo que passaram juntos. Não, eu nunca havia mencionado isso para ele. Tenho certeza.
Você precisa contar a Seth tudo que aconteceu com você quando era uma fugitiva.
Não preciso contar nada a ele.
Pense, pense...
— Precisa de ajuda? — perguntou Seth.
— Não. — Ela fez um barulho, abrindo a caixa de pizza, baixando a tampa do forno.
Isso não pode estar acontecendo. Não pode ser. Ele não pode estar envolvido com essas pessoas.
Impossível.
Mas os instintos de Pam, apurados por anos de sobrevivência, aguçaram-se. Ela delicadamente alcançou seu telefone fixo e o tirou do gancho. Levou-o até a orelha.
Digite nove. Depois um.
— Está ligando para quem?
Seth estava parado à porta da cozinha.
Com um sorriso no rosto, Pam se virou, forçando-se a se mover mais devagar.
— Sabe? Estávamos falando sobre Amelia. E fiquei pensando. Talvez eu deva pedir desculpas. Acho que seria uma boa ideia, não acha? Quero dizer, você faria isso se estivesse no meu lugar?
— Sério? — perguntou. Sem sorrir. — Você estava ligando para Amelia?
— Isso, isso mesmo.
— Desliga o telefone, Pam.
— Eu... — Sua voz desapareceu enquanto seus olhos escuros encaravam os dela. O mesmo tom de castanho. Seu polegar se aproximou do botão um do telefone. Antes que ela pudesse apertá-lo, Seth se aproximou e puxou o telefone de suas mãos, desligando-o.
— O que você está fazendo? — murmurou ela.
Mas Seth não disse nada. Segurou-a com força pelo braço e a puxou novamente para o sofá.
Seth foi até a porta da frente, trancou-a e voltou.
Ele sorriu, arrependido.
— Não acredito que fui mencionar Larchwood. Eu sabia que você e sua mãe ficaram com a Fronteira Patriota por lá. Mas você nunca havia mencionado. Com eu fui idiota, cometendo um erro desses.
— Essa foi uma das coisas que discuti com Amelia — sussurrou Pam. — Ela perguntou se eu tinha contado a você sobre a minha vida por lá. Eu disse que não importava. Mas a verdade é que eu estava com medo de te dizer. E... Você é um deles, não é? Você está trabalhando com as pessoas que estão tentando envenenar a água.
Ele pegou o controle remoto e ligou a TV, provavelmente para ver o noticiário. Pam aproveitou para pular do sofá, empurrando-o com força para longe. Mas ela não conseguiu dar mais de dois passos antes de ser agarrada. Caiu com força, seu rosto batendo na madeira. Pam sentiu gosto de sangue de uma ferida no lábio. Ele a pegou pelo pescoço e a arrastou de volta para o sofá, quase que a arremessando.
— Nunca mais faça isso. — Seth se inclinou perto dela, mergulhando o dedo em seu sangue e desenhando algo em seu rosto.
Murmurando, contou: — Marcas no corpo são como janelas, sabe? Que mostram quem você é e o que você sente. Tribos americanas usavam tinta, que é só uma tatuagem temporária, como uma maneira de dizer aos outros o que se estava sentindo. Os guerreiros não podiam demonstrar suas emoções com palavras ou expressões faciais, não fazia parte da cultura, mas podiam usar mods de tinta para demonstrar se sentiam amor ou tristeza ou raiva. Quero dizer, mesmo que perdesse uma criança, não se podia chorar. Não se podia reagir. Mas era permitido ter o rosto pintado. E todos sabiam como se estava sentindo. No seu rosto, agorinha mesmo? Eu desenhei os símbolos que significam Feliz para a tribo lakota.
E depois alcançou sua mochila. De lá tirou um rolo de silver tape e uma máquina de tatuagem portátil.
Quando fez isso, a manga de sua camisa subiu um pouco e Pam se deparou com uma tatuagem. Era vermelha. Ela não conseguia ver completamente, mas era a cabeça e a parte de cima do corpo de uma centopeia, com olhos demasiadamente humanos que a encaravam do mesmo modo que Seth: o olhar era de fome e desdém.
— Era você quem tatuava as pessoas — comentou Pam com a voz fraca em um sussurro. — E as matava.
Seth não respondeu.
— E como conhece aquele casal? Os terroristas?
— Sou o sobrinho deles.
Seth — mas não, não era Seth; devia ter outro nome — estava montando seu kit de tatuagem. Ela encarava seu braço, a tatuagem. Os olhos do inseto a encaravam de volta.
— Ah, isso? — Ele puxou a manga até em cima. — Não é uma tatuagem, é só um desenho, tinta solúvel em água. Daquelas que os artistas usam para o esboço. — Ele então lambeu seu dedo e esfregou o desenho. — Quando eu era o Homem do Subterrâneo, saindo à caça, eu desenhava no meu braço.
Levava dez minutos. Quando era o seu amigo Seth, lavava. Só tinha que ser bom o suficiente para deixar que a testemunha visse, e seus amigos policiais e você ficassem felizes que o novo homem da sua vida, eu, não era o assassino.
Pam estava chorando.
— Dodói no lábio? Você tentou fugir. — Deu de ombros. — Uma ferida no lábio não é nada comparada a...
— Você é louco!
Os olhos dele se incendiaram de fúria, e ele deu um soco na barriga de Pam. O quarto explodiu em tons de amarelo, e ela soluçava de dor, controlando a quase esmagadora vontade de vomitar.
— Não fala assim comigo. Está entendendo? — Ele a puxou pelos cabelos e levou sua boca a centímetros da orelha de Pam. Gritou tão alto que as orelhas dela latejaram: — Entendeu?
— Ok, ok, ok! Para, por favor! — Pam chorava. — Quem... Quem é você?
— sussurrou, temerariamente, com medo de levar outro soco. Ele parecia capaz de assassiná-la, seus olhos estavam possuídos.
Ele a empurrou. Pam caiu no chão. Ele a puxou bruscamente até o sofá, amarrou suas mãos às costas e a virou de frente novamente.
— Meu nome é Billy Haven. — Ele continuou a arrumar alguns potes e a montar sua máquina de tatuagem. Billy olhou para ela e notou sua expressão de completa confusão.
— Mas eu não entendo. Eu falava com a sua mãe pelo telefone, ela... Ah, sim, sim: era sua tia.
Ele fez que sim com a cabeça.
— Mas eu conheço você há um ano. Mais.
— Ah, já estávamos planejando o ataque naquela época. E eu vinha planejando ter você de volta na minha vida para sempre. Minha Garota Adorável.
— Garota Adorável?
— Que foi roubada. Não fisicamente, mas mentalmente. Você foi sequestrada por Amelia e Lincoln. Pelas pessoas que pensam errado nesse mundo. Você não se lembra de mim. É claro que não. Nós nos conhecemos há muito tempo. Décadas. Éramos crianças. Você estava vivendo em Larchwood, a milícia liderada pelo senhor e pela senhora Stone.
Pam se recordava de Edward e Katherine Stone. Radicais brilhantes que fugiram de Chicago após protestarem a favor de uma derrubada violenta do governo federal. A mãe de Pam, Charlotte Willoughby, havia sido influenciada por eles depois que o marido, pai de Pam, morreu em uma operação de reestabelecimento da paz das Nações Unidas.
— Você tinha mais ou menos 6 anos. Eu era alguns anos mais velho.
Minha tia e meu tio vieram do Missouri para encontrar os Stones para uma campanha antiaborto. Alguns anos mais tarde, meu tio quis solidificar a conexão entre a milícia de Larchwood e o Primeiro Conselho da Família Americana, então Stones e meu tio planejaram o nosso casamento.
— O quê?
— Você era a minha Garota Adorável. Quando você crescesse, seria a minha esposa e a mãe dos nossos filhos.
— Como se eu fosse uma vaca, algum tipo de merc...
Atacando como uma cobra, Billy deu um soco no rosto dela, osso no osso. Pam arquejou com a dor.
— Eu não vou avisá-la novamente. Eu sou seu homem e eu estou no comando. Entendeu?
Ela se encolheu e concordou.
Ele gritou enfurecido: — Você não tem ideia do que eu já passei. Eles levaram você de mim.
Eles te lobotomizaram. Foi como se o meu mundo tivesse acabado.
Isso acontecera quando Pam, sua mãe e seu padrasto vieram para Nova York há alguns anos. Seus pais tinham outro plano terrorista em mente, mas Lincoln e Amelia os impediram. Seu padrasto foi morto e sua mãe, presa. Pam fora acolhida e enviada a um orfanato na cidade.
Ela parou para pensar no dia em que havia conhecido Seth. Sim, Pam tinha achado que ele parecia muito familiar, muito bondoso, muito apaixonado. Mas, de qualquer maneira, ela também tinha se apaixonado rápido. (Tudo bem, admitia Pam agora — talvez Amelia estivesse certa ao dizer que, por causa de sua juventude, ela estivesse desesperada por afeto, por amor. Com isso, ignorou o que deveria ter notado.) Pam agora encarava a máquina de tatuagem, os frascos de veneno.
Lembrou que as vítimas morreram em agonia.
Que toxina encantadora ele havia escolhido para ela?
Isso é o que estava por vir, é claro. Ele a mataria porque, como Lincoln dissera, ela poderia servir de testemunha no julgamento dos Stantons. E ele a mataria porque o plano havia falhado, e seus tios ficariam presos pelo resto de suas vidas.
Ele queria vingança.
Billy olhou mais uma vez para o desenho que tinha feito na bochecha de Pam com o sangue dela mesma.
Feliz...
Ela pensou no tempo em que se sentavam neste mesmo sofá em um domingo chuvoso, assistiam a uma reprise de Seinfeld, Seth a beijando pela primeira vez.
E pensou: eu estava me apaixonando.
Uma mentira. Tudo uma mentira. Ela se lembrou do tempo que ele havia passado em Londres, em um programa de treinamento para uma agência de publicidade que estava abrindo uma filial aqui. Merda nenhuma.
Ele estava de volta com os tios planejando o ataque. E, após seu suposto retorno do Reino Unido, ela não vira nada de estranho em seu comportamento. Tarefas que o mantinham longe por muitas horas, ligações que ele nunca podia atender em sua presença, reuniões de última hora, avisando-a com um minuto de antecedência, sem nunca a ter levado para conhecer colegas de trabalho nem a convidado para conhecer o escritório.
A maneira como se comunicavam por mensagens de texto breves e nunca por ligações. Mas ela não havia desconfiado. Ela o amava, e Seth jamais faria algo para machucá-la.
Ela se obrigou a parar de chorar. Isso foi mais fácil do que imaginara. A raiva congelou suas lágrimas.
Seth... Billy começou a preencher o tubo com o líquido de um dos frascos.
Pam não conseguia imaginar como seria morrer daquela maneira. Dor.
Náusea, queimação na barriga, dores até na mandíbula, vômito, vômito, sem encontrar alívio. Sua pele derretendo, sangue saindo de sua boca, nariz, olhos...
Ele estava meditativo.
— Sinto pena do meu primo. Josh, pobre Josh. Uma pena por ele. Os outros? Não me preocupo com eles. Meu tio ia morrer logo. Já estava no plano. E eu iria matar a minha tia assim que voltássemos para Illinois. E colocaria a culpa da morte dos dois em algum sem-teto, algum residente ilegal provavelmente. Mas, assim que notei que a pressão dos canos não seria desligada, eu sabia que Lincoln Rhyme havia descoberto o plano e que eu teria que desistir de tudo. Deixei uma nota com o endereço do hotel na cena do crime. Foi assim que Lincoln os encontrou.
Ele trabalhava meticulosamente, preenchendo os tubos com o cuidado de um cirurgião, pois de certa forma era um, pensou ela. A máquina de tatuagem movida a bateria era impecável. Depois de montar o aparelho, ele se sentou e subiu a camisa dela até abaixo dos seios. Billy olhou para o corpo de Pam, ele parecia obcecado por sua pele. Ela se encolheu de medo quando ele a tocou embaixo do umbigo. Como se o contato não fosse pelos dedos, mas com as pernas carmesim da centopeia.
Mas não havia nada de sexual em seu toque. Ele era fascinado apenas por sua pele.
— Quem foi? — perguntou ela. — Quem você matou no aqueduto?
— Ei, espere um pouco! — exclamou Billy.
Pam se encolheu. Será que ele ia atacá-la?
— Eu não matei ninguém. Seu amigo matou. Lincoln Rhyme. Foi ele quem fez a declaração dizendo que a pressão da água seria desligada. Mas eu fiquei desconfiado. Por isso decidi me assegurar. Eu conheci um sem-teto no subterrâneo há alguns dias. Nathan. Um dos caras que vivem nos túneis. Já ouviu falar deles? Achei que fosse ser útil usá-lo. Dei a ele um macacão e fiz uma rápida tatuagem de centopeia que fosse igual a minha em seu braço esquerdo. Eu sabia onde ele ficava, perto do Belvedere, então, antes de descer para furar o cano, eu o encontrei.
“Ofereci mil dólares para que ele me ajudasse a furar o cano para que eu pudesse testar a água. Ele concordou. A prefeitura estava blefando sobre cortar a pressão da água. Assim que ele cortou o cano, o fluxo da corrente o cortou ao meio. — Ele estremeceu. — Não sobrou nada da cabeça e do peito. Foi bem difícil de se ver.
Ao menos ele tinha um pouco de respeito.
— E de saber que poderia ter sido comigo.
Ou talvez não.
— E aquilo me mostrou que era hora de fugir. A polícia descobrirá logo que eu não estava lá, mas acabei ganhando algum tempo. OK, hora de sangrar... — E depois disse alguma outra coisa. Ela não conseguia entender.
Parecia ser “Oleandro”.
Ele levantou, olhou para ela. Depois curvou-se para a frente e pegou o botão da calça jeans dela. Pop, abriu-o e desceu o zíper.
Não, não, ele não ia fazer aquilo com ela. Ela arrancaria sua pele preciosa com os dentes antes que ele se aproximasse. Nunca.
Com um puxão rápido, lá se foi a calça.
Ela se tencionou, pronta para atacar.
Mas ele não a tocou lá. Ele acariciou a suave pele de suas coxas. Parecia estar somente interessado em encontrar uma parte apropriada de seu corpo para tatuar sua mensagem mortal.
— Bom, bom...
Pam se lembrou de Amelia falando sobre o código que o assassino estava tatuando nas vítimas. E ela questionou qual seria a mensagem que ele deixaria em seu corpo.
Ele pegou a máquina e a ligou.
Bz.
Tocou com a agulha sua pele. A sensação fora de cócegas.
Depois, veio a dor.
O objetivo do ataque do Primeiro Conselho das Famílias Americanas agora estava claro.
Entre os documentos no bolso do suspeito, além do nome do hotel dos Stantons, Sachs encontrara uma carta incoerente.
Aquilo lembrou Rhyme do manifesto do Unabomber — uma crítica violenta à sociedade moderna. A diferença é que o tratado do suspeito não apresentava os preceitos racistas e fundamentalistas do PCFA; muito pelo contrário, na verdade. O documento, intencionalmente deixado para ser encontrado pela polícia após o envenenamento geral da cidade, dá a entender que foi escrito pelo inimigo — alguma coalizão sem nome de ativistas negros e latinos, afiliados aos muçulmanos fundamentalistas, todos assumindo a responsabilidade pelo envenenamento de Nova York a fim de acertar contas com os opressores capitalistas brancos. A declaração clamava por uma insurreição contra os mesmos, proclamando que o ataque com veneno era só o começo.
Caracterizar o ataque deste jeito foi bem esperto, concluiu Rhyme.
Afastaria a suspeita do PCFA e estimularia sentimentos negativos contra os inimigos do conselho. Também causaria danos imensuráveis à Sodoma que era Nova York, bastião da globalização, dos casamentos inter-raciais e do liberalismo.
Rhyme também suspeitava haver mais em andamento.
— Jogo de poder dentro do movimento miliciano? Se a notícia de que o PCFA atingiu esse grande feito se difundisse, sua influência atingiria níveis estratosféricos.
Uma ligação veio do edifício federal em Manhattan.
— Os Stantons não estão falando nadica de nada, Lincoln — avisou Fred Dellray, o agente do FBI que comandava o aspecto federal da tentativa de ataque. O casal e o filho agora estavam sob custódia federal, mas aparentemente, traduzindo o distinto jargão de Dellray, não estavam colaborando.
— Bem, dê uma canseira neles ou algo assim, Fred. Quero saber quem era o nosso suspeito. As impressões digitais voltaram negativas e ele não estava no CODIS.
— Vi as fotos do corpo no túnel, depois do probleminha com o H2O. Meu Deus, aquilo foi um momento Breaking Bad, hein? A qual velocidade eles acham que a água estava saindo?
Ele estava no viva-voz, e de uma mesa de análise ali perto Sachs anunciou: — Não sabem, Fred, mas depois de cortá-lo ao meio, a água também perfurou uma parede de concreto e um cano de vapor do outro lado. Tive que dar o fora de lá antes que eu me escaldasse.
— Você coletou alguma coisa útil no túnel?
— Algumas coisas, não muito. Tudo já tinha virado pó. Bem, estava mais para mingau do que pó, com toda aquele vapor e água.
Ela explicou sobre a carta, destinada a iniciar uma insurreição racial.
O agente suspirou.
— Quando a gente acha que o mundo está mudando...
— Vamos analisar as evidências, Fred, e manter contato.
— Muito obrigado.
Desligaram, e Sachs voltou a ajudar Mel Cooper a analisar os vestígios e a isolar e comparar as impressões digitais da suíte dos Stantons. Quanto às impressões, entretanto, apenas uma amostra estava nos arquivos, apesar de eles já conhecerem a identidade do perpetrador: Joshua Stanton tinha antecedentes criminais em Clayton County por atacar um homossexual.
Crime de ódio.
Rhyme passou os olhos nas fotografias da cena do crime, imune às imagens macabras. Olhou mais uma vez para a distinta tatuagem, a centopeia vermelha no braço esquerdo do suspeito. Os olhos assustadoramente humanos. Ela era, tal como Sachs tinha dito, muito bem-feita. Teria ele próprio tatuado aquilo?, perguntou-se Rhyme. Ou teria sido pintada por um amigo? Provavelmente o próprio suspeito mesmo. Questão de orgulho.
Sachs atendeu uma ligação.
— Não, não — murmurou ela, chamando a atenção de todos na sala. Seu semblante era de consternação.
O que teria acontecido agora?, questionou-se Rhyme silenciosamente, franzindo.
Sachs desligou. Olhou para todos ali.
— A situação de Lon piorou. Teve uma parada cardíaca. Eles o reviveram, mas a coisa está bem feia. Eu deveria ir ficar com Rachel.
— Vá sim, Sachs. Vamos tomar conta disso aqui. — Rhyme hesitou.
Então perguntou: — Quer dar uma ligada para Pam e ver se ela quer ir com você? Ela sempre gostou de Lon.
Puxando seu casaco do gancho, Sachs ponderou. Por fim disse: — Não. Francamente, acho que não conseguiria mais lidar com tanta rejeição.
No entanto, pelo que parecia, Billy não iria matá-la.
Ainda não, pelo menos.
Era tinta e não veneno que ele havia colocado na máquina de tatuagem.
— Pare de se mexer — ordenou ele. Estava de joelhos em frente ao sofá onde ela estava deitada.
— Minhas mãos estão doendo — disse Pam. — Por favor. Tira essa fita.
Por favor.
— Não.
— Amarra pela frente.
— Não. Fica parada. — Billy a encarou duramente, e ela parou de se contorcer.
— Que merda você está...
Outro tapa violento.
— Temos uma imagem a manter. Você me entende? Você jamais vai usar palavrões e jamais vai falar nesse tom! — Ele agarrou os cabelos de Pam, balançando a cabeça dela como uma presa na boca de uma raposa. — De agora em diante seu papel é o de ser minha mulher. Nosso povo vai ver você ao meu lado. A esposa leal.
Voltou a tatuar.
Pam pensou em gritar, mas teve certeza de que ele a encheria de socos se ela tentasse. Além do mais, não havia mais ninguém no prédio. Uma das unidades estava vaga e os outros moradores estavam num cruzeiro.
Billy conversava com ela distraidamente.
— Vamos ter que ficar bem escondidos por um tempo. Meus tios não vão me entregar. Mas meu primo Joshua? É só uma questão de tempo até tirarem dele tudo o que ele sabe. Sobre mim inclusive. Não podemos voltar para o sul de Illinois. Seu amigo Lincoln já deve estar recolhendo todos os cidadãos mais velhos do PCFA. E vão suspeitar do pessoal de Larchwood novamente, então o Missouri está fora de cogitação. Vamos ter que ir para algum outro lugar. Talvez para a Assembleia Patriótica ao norte de Nova York. Eles estão bastante isolados. — Voltou-se para ela. — Ou Texas. Tem gente lá que se lembra dos meus pais como mártires da luta pela liberdade.
Poderíamos viver com eles.
— Mas, Seth...
— Vamos ficar fora do radar por alguns anos. Me chame de “Seth”
novamente e vou te machucar. Posso fazer tatuagens para ganhar dinheiro.
Você pode trabalhar na Escola Dominical. Aos poucos podemos reemergir.
Novas identidades. O PCFA já é passado agora, mas talvez isso seja bom.
Vamos seguir em frente. Iniciar um novo movimento. E fazer um trabalho bem melhor. Fazer do jeito certo. Vamos colocar nossas mulheres em escolas, e não me refiro somente às escolas religiosas. Estou falando de públicas e privadas. Pegar as crianças enquanto são novas. Moldá-las. Nós homens nos candidataremos a cargos eletivos, de baixa projeção, a princípio. Começaremos no âmbito local e então subiremos. Ah, vai ser um mundo completamente novo. Você não pensa desse modo ainda. Mas vai ficar orgulhosa de ser parte disso.
Ele ergueu a máquina, olhou para o trabalho e voltou a tatuá-la.
— Meu tio era negligente em vários aspectos. Mas teve uma ideia genial.
Ele criou a Lei da Pele. Deu palestras sobre ela por todo o país, para outras milícias, em encontros de avivamento, igrejas, clubes de caça. — Os olhos de Billy brilhavam. — A Lei da Pele... é genial. Imagine: a pele evidencia nossa saúde física, certo? Ela é corada ou pálida. Irradiante ou sem vida.
Retraída ou inchada. Rachada ou lisa... E ela também evidencia nosso progresso espiritual. E intelectual. E emocional. Branco é bom, é inteligente e nobre. Preto e marrom e amarelo são subversivos e perigosos.
— Você não pode estar falando sério!
Ele fechou a mão e Pam se encolheu de medo, silenciando-se.
— Quer uma prova? Um dia desses, eu estava pelo Bronx e um cara me parou. Um jovem rapaz, não sei a idade dele. Negro. Ele tinha queloides no rosto, cicatrizes, como tatuagens. Elas eram lindas. Um artista de verdade tinha feito aquilo. — Seu olhar vagou por um instante. — E você sabe por que ele me parou? Para me vender drogas. Essa é a verdade sobre pessoas como ele. A Lei da Pele. Não dá para enganá-la.
Pam riu amargamente.
— Um jovem negro tentou vender drogas para você no Bronx? Adivinha só! Vá para West Virginia e um jovem branco vai tentar vender drogas para você.
Billy não estava escutando.
— Tem havido um debate sobre Hitler: se ele odiava genuinamente judeus, ciganos e gays e queria construir um mundo melhor ao eliminá-los, ou se ele, na verdade, não se importava com isso, mas achava que os cidadãos alemães os odiavam, portanto usava aquele ódio e medo para tomar o poder.
— Você está usando Hitler como modelo a ser seguido?
— Há escolhas bem piores.
— E aí? Qual é a sua visão, Billy? Você acredita na Lei da Pele ou a está usando pelo poder, para si mesmo, para o seu ego?
— Não ficou claro? — Ele deu uma gargalhada. — Você é mais inteligente que isso, Pam.
Ela não respondeu, e Billy enxugou as lágrimas de dor da bochecha dela.
Pam não sabia a resposta. E algo veio à mente dela, acertou-a em cheio como um dos socos vindos de Billy. Isso tudo estava ligado ao blog em que ela e Seth escreviam juntos.
— E o nosso blog? — murmurou ela. — Aquilo era o oposto de tudo que você está dizendo. Por... Por que você criou o blog então?
— O que você acha? Todo mundo que posta um comentário favorável já está na nossa lista. Comentários pró-aborto, pró-bolsa-qualquer-coisa, pró-reforma nas leis de imigração. O dia do julgamento para essas pessoas está chegando.
Havia comentários de pelo menos quinze mil pessoas no site. O que aconteceria com elas? Será que os seguidores de Billy as localizariam e as matariam? Botariam fogo em suas casas ou apartamentos?
Billy colocou a máquina de tatuagem de lado, esfregou vaselina na tinta da coxa dela e secou a região.
Sorriu e disse: — Veja. O que você acha?
Lendo de ponta-cabeça, ela viu duas palavras na parte frontal de suas coxas.
PAM
WIL
O que ele estava fazendo? Como assim?
Então ele baixou sua calça jeans. Ela viu tatuagens similares a dela em suas coxas, na mesma fonte tipográfica.
ELA
LIAM
E, juntando-as:
PAM ELA
WIL LIAM
— Chamamos isso de tatuagens complementares. Pessoas apaixonadas tatuam parte de seus nomes um no outro. Só dá para lê-los quando estão juntos. Somos nós, está vendo? Quando separados, falta algo. Juntos, somos completos. — Seu rosto de cor doentia esboçou algo semelhante a um sorriso.
— Apaixonadas? — sussurrou ela, olhando para a tatuagem dele. Tinha sido feita anos antes.
Ele olhava fixamente para o rosto confuso de Pam. Ergueu suas calças, então as dela e fechou zíperes e botões.
— Eu sabia que um dia teria você de volta. — Billy indicava as tatuagens. — “Pamela”, “William”. Lindo, não acha? Nossos nomes estarão inteiros quando nos deitarmos para fazer nossa criança. — Ele reparou a expressão de desgosto. — Que cara é essa? — perguntou, como se falasse com uma filha triste depois de um dia ruim na escola.
— Eu amava você! — Pamela chorava.
— Não, você amava alguém que era parte do câncer desse país. — Seu olhar abrandou e ele murmurou: — E eu, Pam? A mulher que eu amei minha vida inteira acaba virando o inimigo? Eles levaram seu coração e sua mente de mim.
— Ninguém me fez mudar. Eu nunca acreditei no que a minha mãe acreditava. No que você acredita.
Billy acariciou os cabelos dela, sorrindo, murmurando: — Você sofreu uma lavagem cerebral. Eu entendo. Vou consertar você, querida. Trazer você de volta à realidade. Agora vamos fazer as malas.
— Ok, ok.
Ele a ajudou a se levantar.
Pam se virou e olhou fundo em seus olhos.
— Sabe, Billy — disse ela num tom suave.
— O quê? — Ele parecia contente em vê-la sorrir.
— Você deveria ter verificado meus bolsos.
Pam jogou o braço esquerdo na direção do rosto dele com toda a força, segurando firme, bem firme, o estilete que usara para romper a fita adesiva — o mesmo objeto que carregava na cintura desde aqueles dias terríveis em Larchwood.
A lâmina atravessou a bochecha de Billy. Não com aquele barulho de corte molhado que se ouve nos filmes. Apenas o silencioso rasgar da carne.
Quando ele gritou e levou a mão ao rosto, andando em círculo, Pam pulou a mesa de café em direção à porta, dizendo: — Ok, aí está uma mod para você, babaca.
As mãos de Pam estavam pegajosas com o sangue de Billy, mas a garota conseguiu abrir a porta e sair tropeçando pelo corredor do prédio.
Ela iria para a rua e gritaria até ficar vermelha. Talvez não houvesse ninguém no prédio que pudesse ouvir seu clamor. Mas havia bastante gente na vizinhança.
Três metros, um metro...
Sim! Ela conseguiria...
Mas seus tornozelos foram agarrados, e ela caiu no chão do lobby com um urro. Sua cabeça bateu e quicou no chão duro de madeira.
A lâmina foi parar longe. Pam se retorceu e virou de frente para Billy, tentando furiosamente dar um chute no meio das pernas dele.
O rosto de Billy estava destruído — aquela imagem a deixava tão chocada quanto contente. O rasgo começava debaixo dos olhos e ia até o meio da bochecha. Ela queria tê-lo cegado, mas, pelo que parecia, ele estava enxergando bem. De qualquer modo, sangue escorria da bochecha e borbulhava em seus lábios. Pam sabia que a lâmina havia passado direto por dentro da boca de Billy. Não dava para entender o que ele falava.
Ameaças, é claro. Raiva.
Sangue respingava na jaqueta da garota, nos braços, nas mãos. O sangue pontilhava seu rosto.
A expressão horrível revelava a dor que ele devia estar sentindo.
Que bom!
Pam desistiu de lutar. Ele estava enfraquecido, mas ainda assim muito mais forte que ela. Fuja, disse a si mesma. Suma daí!
Rastejando, conseguiu se afastar mais ou menos um metro dele, para mais perto da porta.
Mas Billy a segurou e a virou de barriga para cima, desferindo um soco em seu plexo solar, deixando-a novamente sem ar e fazendo-a se curvar.
Pam se livrou por um instante — graças ao sangue escorregadio, ele acabou soltando-a. Ela conseguiu se ajoelhar. Mas Billy foi dominado pela fúria. Ele tomou impulso na parede do corredor e investiu contra ela, agarrando a garganta de Pam com suas mãos vigorosas. Ela estava novamente com costas coladas ao chão, tentando buscar um pouco de ar.
Pam outra vez deu um chute acertando o joelho dele, que urrou, respirando fundo e começando a tossir sangue. Billy se sentou novamente sobre ela. Parou de apertar com firmeza e deu socos na bochecha e no maxilar dela, cuspindo palavras que Pam não conseguia entender, salpicando-a com ainda mais sangue.
Ela tentou chutar de novo, tentou acertá-lo com as mãos, mas não conseguia achar um ângulo favorável.
E o tempo todo tentava respirar, tentava levar ar aos pulmões e gritar por socorro.
Mas nada. Apenas silêncio.
O corte em seu rosto era medonho, mas o fluxo de sangue estava desacelerando, coagulando em torno da ferida, escura e fresca como gelo marrom. Agora ela conseguia ouvir: — Como você pôde fazer isso? — Mais palavras, porém eram estaladas e cuspidas, tornando-se ininteligíveis mais uma vez. Ele cuspia sangue. — Que idiotice, Pam! Você não pode ser salva. Eu devia saber disso.
Billy então se abaixou, colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a apertar.
A cabeça de Pam latejava ainda mais, a agonia crescia enquanto ela lutava para respirar. Sangue preso pulsava em sua têmpora e em seu rosto.
O corredor começava a ficar escuro.
Está tudo bem, disse a si mesma. Melhor isso que voltar para a milícia.
Vivendo a vida que Billy insistia que ela deveria viver. Melhor isso do que ser “a mulher dele”.
Pensou brevemente em sua mãe, Charlotte, falando com ela quando a garota tinha cerca de 4 anos.
“Estamos indo para Nova York para fazer algo importante, querida. Será como num jogo. Eu vou ser a Carol. Se você ouvir alguém me chamando de Carol e disser “Esse não é o nome dela”, vou te bater até você quase morrer.
Você está me entendendo, querida? Vou pegar o chicote. O chicote e então vamos para o closet. ”
“Sim, mamãe. Eu vou ser boazinha, mamãe. ”
Então Pam soube que estava morrendo, pois tudo ao seu redor era luz, brilhante, avermelhada, cegante. E ela quase gargalhou pensando: ei, talvez eu tenha entendido errado aquele negócio de Deus. Estou de frente para o brilho dos céus.
Ou do inferno, sei lá.
Então se sentiu sem peso, leve como nunca, como se sua alma começasse a subir.
Mas não, não, não... Era só Billy içando-a, levantando-a em seguida pegando o estilete.
Ele iria cortar sua garganta.
Billy balbuciava alguma coisa. Pam não conseguia ouvir.
Mas pôde ouvir claramente as duas, depois três explosões fortes vindas da porta do corredor do prédio. Viu que o sol era a fonte da luz: o sol que batia no edifício voltado para oeste. E viu duas silhuetas de homens empunhando armas. Olhando para Billy, viu-o cambalear para trás, tropeçar, apertar o peito com a mão. Com a boca rasgada escancarada.
Billy olhou para baixo, na direção dela, largou o estilete, sentou-se desajeitadamente e em seguida se inclinou de lado. Ele piscou, parecia surpreso. Sussurrou algo. Suas mãos estremeceram.
Logo depois, os policiais invadiram o corredor e a seguraram pelos braços, erguendo-a de pé e puxando-a em direção à porta. Pam se debateu, aparentemente surpreendendo os homens com sua força.
— Não — sussurrou ela.
Virou-se e manteve sua atenção fixa em Billy até que o olhar dele perdeu o foco e as pupilas ficaram vazias. Respirando fundo, ela esperou mais um instante e, em seguida, virou-se e saiu, enquanto os policiais avançavam em direção ao corpo de Billy, pistolas apontadas e prontas — o que era, imaginou Pam, procedimento padrão, embora estivesse claro, sem dúvida alguma, que ele já não era uma ameaça.
Os paramédicos haviam terminado de cuidar de Pam Willoughby, que saía de sua casa rumo à rua iluminada e fria.
De um lugar na calçada, onde estava parado com sua velha cadeira de rodas da Merits, Lincoln Rhyme notou que Amelia Sachs começava a se aproximar da garota com os braços levemente estendidos — para abraçá-la —, mas então reduziu os passos até por fim parar. Recuou um pouco, baixando as mãos, quando Pam não reagiu ao gesto com nada além de um aceno formal com a cabeça.
— Como você está se sentindo? — perguntou Rhyme.
— Vou levando — respondeu a jovem com o olhar triste. Rhyme já não conseguia vê-la como uma garotinha. Ouvira sobre como ela havia lutado contra o suspeito e estava orgulhoso.
Por algum motivo, Pam continuava a esfregar as pernas — a parte da frente das coxas. Isso o fez lembrar da forma compulsiva com a qual Amelia Sachs às vezes tocava ou coçava o próprio corpo. Pam notou Rhyme olhando e parou.
— Ele me tatuou. Mas não foi com veneno. Era uma tatuagem de verdade. Ele já tinha parte do meu nome e do nome dele nas pernas, e completou o restante nas minhas.
Tatuagens complementares, lembrou Rhyme, TT Gordon havia falado sobre elas. Casais apaixonados que registravam partes de seus nomes em cada um.
— Eu me... — Ela engoliu em seco. — Estou me sentindo bem estranha.
— Conheço alguém que consegue removê-las. Tenho o telefone dele.
Se TT Gordon sabia como tatuar, certamente saberia como remover uma tatuagem.
Pam assentiu e se esfregou compulsivamente de novo.
— Ele me falou coisas horríveis. Ele era... Ele parecia querer virar um novo Hitler. Iria matar os tios e começar o próprio movimento miliciano.
Sabe, minha mãe não era inteligente assim. Ela ficava tagarelando sem parar e não dava para levá-la a sério. Mas Billy estava num outro nível. Ele tinha feito faculdade. Ia abrir escolas para começar a doutrinar crianças.
Falou sobre a Lei da Pele. Dava para ver que ele estava obcecado por isso.
Racismo, puro e simples.
— Lei da Pele — ponderou Rhyme. Isso certamente combinava com o manifesto que eles planejaram deixar no local do envenenamento na adutora. Ele se lembrou do que Terry Dobyns dissera.
Se você conseguir descobrir por que ele é tão fascinado por pele, essa será a chave para entender o caso...
Pam continuou:
— E ele esteve obcecado por mim ao longo desses anos todos.
Ela explicou sobre o noivado, sobre Billy vir para cá um ano atrás e começar a planejar o ataque à cidade... e a sedução toda. Ela estremeceu.
— Você quer entrar na van? — perguntou Rhyme, indicando com os olhos o veículo com acessibilidade que Thom havia dirigido até ali. O apartamento dela havia sido interditado para a análise da cena do crime, e Pam claramente estava com frio; nariz e olhos vermelhos, ponta dos dedos também.
— Não — respondeu Pam rapidamente. Ela parecia mais confortável à luz do sol, apesar do ar gélido. — Você pegou todos eles?
— Todos que estavam em Nova York, pelo que parece — explicou Rhyme. — Matthew e Harriet Stanton. E o filho deles, Joshua.
A equipe de busca havia encontrado uma identificação real no corpo do suspeito. William Haven, 25 anos. Um tatuador residente em South Lakes, Illinois.
— Temos gente investigando todos os documentos agora, anotações, telefones, computadores — continuou Rhyme. — Há alguns conspiradores no sul de Illinois, mas haverá outros. As bombas não explodiram, mas eram reais: pólvora, detonadores e disparadores por celular. Alguém com conhecimento montou os dispositivos explosivos.
— Se eles forem um pouco parecidos com o grupo secreto da minha mãe, a Fronteira Patriótica, deve haver dezenas de pessoas envolvidas. Eles sempre se reuniam tarde da noite, sentados na cozinha, tomando café, tramando aquelas merdas de planos... Lincoln? — perguntou Pam.
Ele ergueu uma sobrancelha.
— Como você soube? Do Seth? Para enviar a polícia para cá?
— Eu não sabia. Mas suspeitei quando me veio à mente: como o suspeito sabia de TT Gordon?
— De quem?
— O tatuador que você e Seth conheceram no meu laboratório.
— Ah, o cara com a barba esquisita e os piercings.
— Esse mesmo. Billy invadiu o estúdio dele e matou um de seus sócios.
Acho que ele queria matar o TT, mas ele havia saído. Billy pode ter descoberto sobre o tatuador de outra forma, mas essa é a explicação mais simples: vendo TT na minha casa.
“Desde que descobrimos que a motivação do grupo era terrorismo doméstico e que existia uma conexão conjectural com você e sua mãe, e o Colecionador de Ossos, só imaginei se não era coincidência demais Seth ter aparecido na sua vida.
“Claro, o suspeito tinha uma tatuagem de uma centopeia. Seth parecia não ter nenhuma; eu já o tinha visto com uma camisa de manga curta. O que pensar disso? E então lembrei da tinta lavável à prova d’água, vermelha, num dos sacos de evidência. TT nos disse que alguns artistas usavam canetas com tintas laváveis como aquela para primeiro fazer o contorno da tatuagem. Talvez ele tivesse feito uma tatuagem temporária no braço para nos enganar.”
Pam assentiu.
— Sim, exatamente. Ele me disse que tinha desenhado uma dessas para fazer as pessoas pensarem que era outra pessoa. Aí então a lavava quando estava no papel de Seth. Ele tatuou a centopeia em um morador de rua e o pagou para perfurar o cano. O homem que morreu no túnel. Seth disse que não acreditava que você desligaria a pressão da água. Queria ser cauteloso.
— Ah, então esse era o sujeito. — Rhyme continuou: — Então ele invadiu minha casa e tentou me envenenar. Achávamos que ele fosse um especialista em abrir fechaduras; não havia sinais de arrombamento na tranca. Mas é claro que...
— Ele pegou a chave da sua casa do meu chaveiro — completou Pam, com desgosto. — Fez uma cópia.
— Era isso que eu imaginava, sim. Era ele o suspeito? Não poderia afirmar com certeza, é claro, mas não daria nenhuma chance ao acaso.
Liguei para a central e enviei imediatamente alguns policiais para cá.
— E o ataque aqui ontem — disse Sachs. — Ele forjou tudo.
— Deu a si mesmo uma injeção de propofol e se algemou. Derrubou o frasco de veneno e a seringa no chão e deitou para tirar uma soneca até a polícia aparecer.
— Por quê? — perguntou Pam.
— Queria manter qualquer olhar suspeito afastado — explicou Sachs.
— Que melhor forma disso acontecer do que virar a própria vítima?
— E, devo admitir, nossos analistas de perfil de criminosos contribuíram — acrescentou Rhyme. — Pesquisas revelaram que centopeias, na arte e na ficção, representam a invasão de espaços seguros e confortáveis. Elas permanecem à espreita, invisíveis. Esse era o Seth. Bem, o Billy.
— Verdade. — Pam ainda mantinha os olhos em seu apartamento.
Franziu a testa, tirou um lenço do bolso e o lambeu. Limpou o sangue de sua bochecha.
Sachs, a investigadora-chefe do caso agora que Lon Sellitto estava fora de ação, passou cerca de vinte minutos interrogando a garota, com Rhyme por perto. Eles souberam que Billy, com Pam ao seu lado, havia planejado fugir rumo a um grupo miliciano na parte norte de Nova York, a Assembleia Patriótica, com a qual Rhyme e Sachs já tiveram problemas.
Ron Pulaski terminou de vasculhar a cena no apartamento de Pam — mesmo quando se anulava completamente a ação do criminoso, como foi o caso aqui, ainda se deveria seguir com as formalidades. Quando já havia terminado, reuniu as evidências, assinou os cartões da cadeia de custódia e disse a Rhyme que levaria tudo para o laboratório. Os legistas levaram o corpo num carro. Com o olhar tão frio quanto o ar, Pam assistiu à maca entrando na van.
Rhyme, então, concentrou-se em Sachs. Quando ela e Pam conversaram sobre o que acabara de acontecer, a policial ocasionalmente havia tentado brincar e oferecer palavras de conforto. Pam respondera com um sorriso formal que mais parecia uma chacota. A expressão tinha machucado Sachs profundamente, estava evidente.
Uma pausa enquanto Sachs, com as mãos na cintura, permanecia olhando para o apartamento. Ela disse a Pam: — A cena está limpa. Ajudo a arrumar, se quiser?
Rhyme reparou que ela estava hesitante, e o tom de sua voz mostrava que Sachs considerava essa pergunta perigosa.
— Acho que vou para a casa dos Olivetti, sabe. E, talvez, algum dia da semana, eu pegue o carro de Howard emprestado para passar em casa para pegar o que faltou. Tudo bem, Lincoln?
— Claro.
— Espera — disse Sachs com firmeza.
Pam respondeu com uma postura desafiadora.
— Quero que você se encontre com alguém para falar sobre isso — continuou a detetive. — Converse com alguém. — Enfiou a mão na bolsa. — Esse é Terry Dobyns. Ele trabalha para a polícia de Nova York, mas pode te indicar alguém.
— Eu não...
— Por favor. Faça isso.
Um dar de ombros. O cartão desapareceu no bolso de trás da calça da garota, onde estava o celular.
— Se você precisar de qualquer coisa, me liga — disse Sachs. — A qualquer hora. — Um sopro de desespero bem difícil de se ouvir.
A garota não disse nada ao entrar na casa e retornar com uma mochila e a bolsa do notebook. Fios brancos saíam do iPod até os ouvidos e foram enfiados debaixo de um chapéu grandalhão.
Ela acenou para Rhyme e Sachs, mas sem direção específica.
Sachs ficou olhando enquanto ela partia.
— As pessoas odeiam descobrir que estavam erradas, Sachs, mesmo quando é para o bem delas — comentou Rhyme pouco depois. — Principalmente quando é para o bem delas, talvez.
— É o que parece. — Ela inclinava o corpo para a frente e para trás no frio, vendo a figura de Pam desaparecer a distância. — Eu arruinei tudo, Rhyme.
Era em momentos como esse que Rhyme mais detestava sua deficiência.
Tudo o que ele mais queria era caminhar até Sachs e envolvê-la, passando os braços pelos ombros trêmulos dela, abraçando-a o mais apertado possível.
— Como está Lon? — perguntou Rhyme.
— Saiu da UTI, mas ainda está inconsciente. Rachel está bem mal. O filho de Lon está lá.
— Eu conversei com ele — contou Rhyme.
— Ele é uma fortaleza. Realmente independente.
— Você vai voltar para casa?
— Daqui a pouco — respondeu Sachs. — Tenho que me encontrar com uma testemunha da investigação do Metropolitan Museum.
O outro caso de Sellitto, o arrombamento no museu da Quinta Avenida.
Com o detetive no hospital, outros oficiais do Departamento de Casos Especiais estavam assumindo o caso. Agora que o plano de terrorismo do PCFA havia sido frustrado, era hora de reviver o politicamente importante, e misterioso, caso.
Sachs caminhou até seu Torino. Deu a partida no motor com uma explosão de potência, e tirou um fino da calçada, levantando uma fumaça cujo tom azul ficou violeta sob a luz avermelhada do sol poente.
Lincoln Rhyme não estava feliz consigo mesmo pelo lapso de não ter deduzido a identidade do suspeito; as fontes de informação sobre Billy Haven foram uma busca pelo corpo dele e a explicação de Pam.
— Mas eu devia ter descoberto isso — disse ele para Cooper e Pulaski.
— O quê? — Pulaski largou o saco plástico no qual vinha manipulando evidências com uma pinça e se virou para Rhyme.
— Que Billy era alguém próximo dos Stantons. E a reação de Harriet?
Quando Amelia informou a ela que ele estava morto? Ela ficou histérica.
Então eu devia ter percebido que ela o conhecia bem. Muito bem. O filho também, Joshua. Achei que ele fosse desmaiar quando ouviu aquilo. Eu poderia ter deduzido que, mesmo que o suspeito não fosse da família imediata, ele pertencia à extensão da mesma. Sabemos que ele é o sobrinho, sabemos seu nome. Mas descubra o resto dos detalhes sobre o senhor William Haven, novato. Stat.
— Latim, vem de statim, significa “imediatamente” — disse Pulaski.
— Ah, é verdade. Você é um estudioso dos clássicos. E, eu me lembro, um estudante de filmes de crime em que gracejos digressivos são usados para nos distrair de falhas no enredo e personagens superficiais. Por exemplo, aqueles assassinos conhecedores da gramática aos quais você se referia. Então, poderíamos continuar seguindo com as tarefas a nós atribuídas?
— Exempli gratia — resmungou Pulaski, e começou a digitar rapidamente em seu teclado.
Poucos minutos depois, ele ergueu os olhos da tela do computador.
— Negotium ibi terminetur — disse ele com um tom de completude.
— A tarefa está finalizada — traduziu Rhyme. — Mais elegante seria dizer “Factum est”. Soa melhor. Esse é o problema com o latim. Ele soa como se você estivesse mastigando pedras. Abençoados sejam os italianos e os romenos que retiraram a linguagem do meio de um fogaréu.
Pulaski lia do monitor: — Matthew Stanton era filho único. Mas Harriet tinha uma irmã, Elizabeth. Casada com Ebbett Haven. Eles tiveram um filho, William Aaron.
Ebbett era um membro antigo do PCFA, mas ele e sua mulher morreram quando o garoto era novo. — Ele olhou para cima. — Durante o Cerco de Waco. Eles eram pistoleiros contratados pelos Davidianos e foram pegos durante o cerco. William foi morar com a tia Harriet e o tio Matthew.
Chamavam-no de Billy a maior parte do tempo. Ele tem uma ficha corrida: menor de idade, portanto não há registro impresso disso; foi arquivado. O caso foi uma acusação de agressão. Crime de ódio. Billy surrou um garoto judeu na escola. Então usou um furador de gelo e tinta para tatuar uma suástica no antebraço do menino. Tinha 10 anos. Tem uma foto. Veja só.
A tatuagem era muito bem-feita. Duas cores, com sombreamento, linhas bem finas e precisas, Rhyme reparou.
— Depois ele estudou arte e ciência política na Universidade do Sul de Illinois. Em seguida, por algum motivo, abriu um estúdio de tatuagem.
Na mochila de Billy havia recibos do aluguel de dois apartamentos na cidade. Um era em Murray Hill, sob o nome de Seth McGuinn — namorado de Pam. O outro, sob o pseudônimo Frank Samuels, ficava em Chinatown, perto da Canal Street. A Perícia Forense havia realizado buscas em ambos.
Billy limpara tudo muito bem, mas no segundo local — uma oficina — a equipe havia recuperado equipamento e terrários cheios de plantas das quais Billy extraíra e destilara os venenos usados nas vítimas.
Essas caixas e suas misteriosas luzes estavam agora na sala de Rhyme, encostadas na parede oposta. Bem, todas menos uma: o terrário lacrado que dava abrigo aos esporos de toxina botulínica. O pessoal de bioquímica de Fort Detrick havia decidido que era melhor eles tomarem conta daquilo.
Geralmente possessivo com relação às evidências, Rhyme não fizera objeção a aquela caixa em particular ser levada embora.
O cientista forense terminou de registrar as plantas nas evidências — reparando que a cicuta era particularmente bonita — e ligou para Fred Dellray, o agente do FBI, que estaria lidando com o aspecto federal da investigação. Rhyme explicou o que eles haviam encontrado.
— Imagina só. Eu estava me perguntando onde as armas de destruição em massa de Saddam Hussein foram parar. E a gente finalmente as encontrou a dois quarteirões do meu restaurante chinês favorito — resmungou o agente excêntrico. — Panda Feliz. Aquele na Canal Street. Não o Panda Feliz na Mott nem o Panda Feliz da Sexta Avenida. O original e único Panda Feliz. A-hã. A água-viva. Não, não, é melhor do que você imagina. Ok, me liga quando você estiver com o relatório pronto.
Depois que o agente desligou, Rhyme escutou uma risada do outro lado da sala.
— Essa foi muito boa — comentou Mel Cooper, olhando para o computador.
— O quê? — perguntou Rhyme.
Pulaski também riu e virou o monitor: estava no site do New York Post.
A manchete sobre o caso dos Stantons dizia Picada venenosa.
Referindo-se à arma do crime que Billy usava.
Criativo.
Enquanto Cooper e Pulaski continuavam a analisar e a catalogar as evidências tanto do apartamento de Pam quando da oficina-esconderijo de Billy, Rhyme se dirigiu de volta à mesa de evidências.
— Luvas — anunciou.
— Você quer...? — perguntou Thom.
— Luvas! Estou prestes a mexer em algumas evidências.
Com certa dificuldade, o ajudante calçou uma na mão direita de Rhyme.
— Agora. Aquilo.
Ele apontou para o fino bloco de notas intitulado A Modificação, que continha páginas detalhando o esquema de envenenamento: cronograma, escolha das vítimas, localizações, procedimentos policiais, citações de Cidades em série, o livro de crimes reais sobre Rhyme, e as direções acerca de como “se antecipar ao antecipador”. As anotações foram escritas na bela letra cursiva de Billy Haven. Sem surpreender ninguém, dadas suas habilidades artísticas, a caligrafia lembrava a de uma daquelas iluminuras feitas por escribas.
Rhyme já havia passado os olhos na caderneta antes, mas agora queria examiná-la com mais profundidade para tentar localizar outros conspiradores.
Thom ajeitou o caderno no braço da cadeira de rodas e, num gesto às vezes constrangedor, às vezes elegante, mas sempre confiante, Lincoln Rhyme virou as páginas e leu.
O homem atarracado e careca, com um sobretudo cinza e curto, andava pela calçada larga com pés que apontavam para fora. Carregava uma maleta surrada. Poucas pessoas na rua notavam seu físico ou seu jeito de andar. Ele não poderia ser mais indefinível. Homem de negócios, contador, executivo de agência de publicidade. Ele era um trouxa. Ele era um Prufrock.
Gostava deste lugar. O Greenwich Village era menos chique do que, digamos, o SoHo ou TriBeCa, mas tinha uma vizinhança melhor; Little Italy já estava no passado, mas o Village se mantinha o bastião da velha guarda de Manhattan, os esquisitos, os artistas, os descendentes de imigrantes europeus. O bairro era povoado pelas famílias de, sim, maridos atarracados e carecas e suas esposas apáticas, filhos ambiciosos porém modestos, filhas inteligentes. Ele se misturava bem por aqui.
O que era bom, considerando sua missão.
O sol se punha e a temperatura estava baixa, mas pelo menos o céu estava claro; a chuva e a neve dos últimos dias haviam cessado.
Ele foi até a vitrine do Café Artisan e examinou o cardápio manchado.
Era uma cafeteria verdadeira. Italiana. Aquele lugar já fervia leite antes mesmo que o Starbucks fosse um brilho nos olhos de quem quer que seja de Seattle, e não da Sicília, que tenha criado a marca.
Ele olhou pelas decorações de Natal prematuras na vitrine repleta de doces e estudou a cena da mesa na parede oposta: uma mulher ruiva com um suéter bordô e jeans justo sentada diante de um homem de terno. Ele era magro e parecia um advogado prestes a se aposentar. A mulher fazia perguntas ao homem e anotava as respostas em um caderninho. A mesa, ele notou, balançava um pouco; o calço embaixo da perna norte-nordeste não estava bem apoiado.
Estudou o homem e a mulher cuidadosamente. Se estivesse interessado em sexo, o que não era o caso, a mulher certamente o teria atraído.
Amelia Sachs, a mulher que ele viera até aqui para matar, era bem bonita.
Como o clima estava frio, não era estranho ele estar usando luvas, o que era uma sorte. As que cobriam suas mãos eram de lã preta, já que couro deixa uma impressão digital tão clara quanto os dedos. Rastreável, em outras palavras. Mas tecido? Não.
Ele reparava agora em onde a bolsa de Amelia estava — na parte de trás da cadeira. Como as pessoas confiavam umas nas outras por aqui. Se estivessem na Cidade do México, a bolsa estaria amarrada com uma daquelas travas de náilon, como das que se usam para amarrar sacos de lixo ou pulsos de prisioneiros.
A bolsa estava fechada, mas isso não era um problema. Há alguns dias, havia comprado uma bolsa exatamente como a dela e praticado, praticado, praticado colocar algo lá dentro silenciosamente (ele tinha estudado prestidigitação por anos). Finalmente, dominara a técnica o suficiente para que levasse apenas três segundos para abrir a bolsa, colocar o pequeno objeto lá dentro e fechá-la novamente. Fizera isso centenas de vezes.
Colocou a mão no bolso e pegou o frasco de um analgésico comum. Era da mesma marca do que Amelia Sachs tomava. (Ele descobrira isso ao olhar o armário de remédios dela.) Amelia tivera problemas de osteoartrite no passado e, embora não parecesse estar com sintomas recentemente, ele observara, ela ainda tomava os comprimidos de tempos em tempos.
Ah, as provações que os nossos corpos nos fazem passar.
As cápsulas neste frasco eram idênticas às que ela comprara. Havia uma diferença, entretanto: cada uma das pílulas era composta de antimônio comprimido.
Assim como o arsênico, o antimônio é um elemento básico, um metaloide. O nome vem do grego para “oposto à solidão”. O antimônio era usado no passado para escurecer as sobrancelhas e as pálpebras de mulheres promíscuas, incluindo Jezebel, na Bíblia.
É um elemento abundante e útil, empregado com frequência até os dias de hoje em indústrias. Mas o antimônio, Sb, número atômico 51, também tem sido a causa de milhares de mortes extremamente dolorosas em toda a história. Wolfgang Amadeus Mozart foi talvez sua vítima mais famosa. (A pergunta ainda permanece: intencional ou não? Teríamos de perguntar a Antonio Salieri.) A cada fisgada de dor em seu joelho reconstruído, que ela sentiria mais cedo ou mais tarde, Sachs tomaria duas pílulas.
Estaria morta em alguns dias — de acordo com a mídia, outra vítima de Billy Haven, que teria conseguido colocar a droga contaminada em sua bolsa antes que ele e seus parentes terroristas fossem detidos.
Embora na verdade os Stantons não tivessem nada a ver com esse assassinato independente.
O homem do lado de fora do Café Artisan, que se preparava para matar Sachs, era Charles Vespasian Hale, seu nome na certidão de nascimento, embora fosse conhecido por muitos outros também. Richard Logan era um.
E, mais recentemente, David Weller, o advogado indignado que havia entrado em contato com o FBI sobre o policial arrogante Ron Pulaski.
O único nome do qual ele verdadeiramente gostava, entretanto, era o que melhor o descrevia: o Relojoeiro — ecoando tanto suas habilidades na elaboração de enredos criminais intrincados e sua paixão por relógios de parede e de pulso.
Ele olhava agora para um deles, um Ventura SPARC Sigma MGS, um relógio de pulso digital que custava cinco mil dólares. Hale possuía cento e dezessete relógios, a maioria deles analógica, mesmo que alimentados por eletrônicos ou baterias. Ele tinha Baume & Merciers, Rolexes e TAGs. Tivera a chance de roubar um Patek Philippe Calibre 89 de seis milhões de dólares, o famoso relógio de bolso comemorativo para celebrar o aniversário de cento e cinquenta anos da empresa. Ele era mais complicado — seus ponteiros indicavam informações muito além da hora exata — que qualquer outro relógio já criado. A obra-prima de dezoito quilates oferecia informações como as fases da lua, reserva de energia, meses, temperatura, cálculo da data da Páscoa, constelações, pôr do sol e frações de segundo.
E, mesmo assim, Hale havia decidido não roubar a obra-prima.
Por quê? Porque o Patek era uma relíquia. E agora ele vivia em uma nova era. O modo de vida analógico tinha acabado. Hale demorara um pouco para aceitar o fato, mas seu aprisionamento pelas mãos de Lincoln Rhyme alguns anos antes serviu para mostrar a ele que o mundo havia mudado.
E Hale tinha levantado para saudar o amanhecer.
O Ventura em seu pulso representava essa nova face — por assim dizer — de contar o tempo. Sua precisão incomparável dava a ele grande prazer e conforto. Olhou para o relógio mais uma vez.
E fez uma contagem regressiva:
Quatro...
Três...
Dois...
Um...
Um alarme de incêndio ensurdecedor disparou nos fundos do café.
Hale colocou um gorro de lã sobre sua cabeça raspada e entrou na loja extremamente quente.
Ele não fora visto por ninguém — incluindo Amelia Sachs e seu interrogado —, pois todos encaravam a cozinha, onde ele havia deixado o aparelho há vinte minutos. O detector de fumaça automático, colocado na prateleira, parecia velho (não era) e gorduroso (estava). Os funcionários o encontrariam e pensariam que ele tinha sido descartado e deixado na prateleira alta por acidente. Logo alguém o pegaria, arrancaria as baterias e jogaria aquilo fora. Ninguém pensaria de novo sobre o alarme falso.
Amelia olhou ao redor — assim como todos — procurando fumaça, mas não havia nada. Quando seus olhos se voltaram para a porta da cozinha, por trás da qual o alarme barulhento persistia, Hale se sentou em uma cadeira atrás de Amelia e, ao colocar sua maleta no chão, enfiou o frasco na bolsa dela.
Um novo recorde: dois segundos.
Depois olhou ao redor, como se ponderasse se queria mesmo desfrutar de um latte em um lugar que podia estar pegando fogo.
Não. Ele preferia ir a outro lugar. O homem se levantou e saiu para o frio da rua.
O barulho parou — hora de arrancar as baterias. Um olhar de volta.
Sachs voltou para suas notas, para seu café. Alheia a sua morte iminente.
O Relojoeiro se virou em direção à entrada do metrô na rua 4, Oeste.
Enquanto andava pela calçada na brisa revigorante, um pensamento interessante veio à sua mente. Arsênico e antimônio eram metaloides — substâncias que compartilhavam propriedades de metais e não metais —, mas eram rígidas o suficiente para serem moldadas em materiais duráveis.
Seria possível fazer um relógio desses venenos?, questionou.
Que ideia fascinante!
E uma que, ele sabia, podia ocupar a sua mente fértil pelas semanas e meses seguintes.
— Passe adiante — disse Lincoln Rhyme. O cientista forense estava sozinho em sua sala, falando pelo viva-voz enquanto olhava distraidamente um site que continha algumas antiguidades bastante elegantes e peças de arte.
— Bem — começou a voz, que pertencia a um capitão do Departamento de Polícia de Nova York, que no momento estava no quartel-general. No prédio grande.
— Bem, o quê? — rebateu Rhyme. Ele havia sido um capitão também; de qualquer maneira, nunca levou patentes muito a sério. Competência e inteligência contavam mais.
— É um pouco heterodoxo.
Que merda isso quer dizer?, pensou Rhyme. Por outro lado, ele mesmo já havia sido um funcionário público em um mundo de funcionários públicos e sabia que às vezes era necessário jogar um jogo ou outro. Ele apreciava a relutância do homem.
Mas não poderia perdoá-la.
— Estou ciente disso, capitão. Mas precisamos correr com a história. Há vidas em risco.
O primeiro nome do capitão era incomum. Dagfield.
Quem daria esse nome a alguém?
— Bem — retomou Dag na defensiva. — Terá que ser editado e avaliado...
— Eu mesmo escrevi. Não precisa ser editado. E você pode avaliar.
Avalie agora. Não temos muito tempo.
— Você não está me pedindo para avaliar. Está me pedindo para publicar o que você me mandou, Lincoln.
— Você examinou, você leu. Isso já é avaliar. Precisamos passar isso adiante, Dag. O tempo urge.
Um suspiro.
— Tenho que consultar uma pessoa primeiro.
Rhyme considerou opções táticas. Não havia muitas.
— A situação é a seguinte, Dag. Eu não posso ser demitido. Sou um consultor independente que advogados de defesa ao redor do país querem contratar tanto quanto a polícia de Nova York. Talvez até mais e eles pagam melhor. Se você não publicar esse comunicado de imprensa exatamente, e repito, exatamente, como enviei, vou começar a trabalhar para a defesa e parar de trabalhar para a polícia de uma vez por todas. E, quando o comissário souber que eu estarei trabalhando contra o departamento, seu trabalho passará a ser setor privado, e o que quero dizer com isso é: em uma rede de fast food.
Ele não tinha ficado muito satisfeito com aquela frase. Poderia ter sido melhor. Mas lá estava.
— Você está me ameaçando?
Isso nem precisava de resposta.
Dez segundos depois: — Merda.
O telefone fez um clique simples e doce na orelha de Rhyme quando o capitão desligou.
Deslizou sua cadeira de rodas até a janela, para olhar para o Central Park. Ele gostava mais da vista no inverno do que no verão. Alguns podem pensar que isso é porque as pessoas gostam de esportes nos meses quentes da estação, de correr, jogar frisbee, jogar softball — atividades para sempre negadas a Rhyme. Mas a verdade era que ele só gostava da vista.
Mesmo antes do acidente, Rhyme nunca gostara dessas brincadeiras inúteis. Pensou no caso que envolvia o Colecionador de Ossos, há alguns anos. Logo após o acidente, ele havia desistido da vida, acreditando que jamais existiria em um mundo normal novamente. Mas aquele caso lhe ensinara uma verdade que se mantivera: ele não queria uma vida normal.
Nunca quis, deficiente ou não. Seu mundo era o mundo da dedução, da lógica, de contra-ataques e defesas mentais, do combate do pensamento — e não de armas ou golpes de caratê.
E assim, ao olhar a paisagem sem folhas e bem-definida do Central Park, ele se sentiu completamente em casa, reconfortado pela lição que o Colecionador de Ossos lhe ensinara há tantos anos.
Rhyme voltou a olhar para a tela do computador e se jogou mais uma vez no mundo das belas-artes.
Leu as notícias e descobriu que, sim, Dag havia passado adiante. O não avaliado, não editado, o incontestado comunicado de imprensa havia sido distribuído em todas as mídias.
Rhyme olhou para o relógio em seu computador e voltou à navegação.
Meia hora depois, seu telefone tocou e ele notou que o identificador de chamadas informava: Desconhecido.
Dois toques. Três. Tocou o botão para atender com seu dedo indicador.
Ele disse:
— Alô.
— Lincoln — disse o homem que ele conhecia como Richard Logan, o Relojoeiro. — Você tem um tempo para conversar?
— Com você, sempre.
— Acabei de ver a notícia — disse o Relojoeiro. — Você publicou a minha foto. Ou a representação de um artista de mim como Dave Weller. Não está ruim. Um retrato falado, presumo. Tanto gordo quanto magro, com ou sem cabelo, bigode e sem barba. Você não fica muito impressionado com a confluência da arte com a ciência da computação, Lincoln?
A referência ao comunicado de imprensa que Rhyme havia pressionado o alto escalão da polícia de Nova York a publicar.
— Ficou preciso então? — perguntou o cientista forense. — Meu policial não tinha certeza se, quando trabalhou com o artista, ele tinha desenhado a estrutura da mandíbula corretamente.
— Aquele jovem. Pulaski. — O Relojoeiro parecia entretido. — Ele observa em duas dimensões e tira conclusões precipitadas. Eu e você sabemos os riscos disso. Ele é melhor como perito do que como agente sob disfarce, imagino. Menos improvisação na cena do crime. Deduzo alguma lesão cerebral, certo?
— Sim, exatamente.
O Relojoeiro continuou: — Ele tem sorte de que, quando armei para cima dele, foi com o FBI e não com algum dos meus sócios de verdade. Caso contrário, ele estaria morto.
— É possível — disse Rhyme, devagar. — Ele tem bons instintos. E aparentemente atira muito bem. De qualquer maneira, ele era tudo o que eu podia usar ali, dadas as circunstâncias. Eu estava ocupado tentando deter um tatuador psicótico.
Agora que ele sabia que o Relojoeiro havia escapado da prisão e que estava vivo, Rhyme se lembrou da aparição do homem há muitos anos, quando ele o vira pela primeira vez pessoalmente. Sim, havia similaridades, refletiu ele agora, entre o advogado que Pulaski descrevera para o artista do retrato falado e o Relojoeiro de muitos anos atrás — atributos que Rhyme agora podia lembrar, embora alguns fatores-chave fossem diferentes. Ele disse: — Você fez procedimentos não cirúrgicos. Como inserir silicone ou algodão nas bochechas. E o cabelo, tesouras de desfiar e uma lâmina, bom trabalho ao simular uma calvície. Maquiagem também. A maioria dos estúdios de cinema faz errado. O peso, seu tamanho, era uma roupa com enchimento, certo? Ninguém poderia ganhar vinte e cinco quilos em quatro dias. O bronzeado veio de algum frasco.
— Isso mesmo. — Uma risada. — Talvez. Ou de um salão de bronzeamento. Existem cerca de quatrocentos na área metropolitana. Você deveria começar a fazer a varredura. Se der sorte, lá pelo Natal você consegue encontrar aquele no qual eu fui.
— Mas você mudou, se modificou, se você me permite... mais uma vez, certo? — perguntou Rhyme. — Desde que publicamos a foto.
— Claro. Agora, Lincoln, estou curioso para saber por que você liberou minhas informações para a imprensa. Você correu o risco de fazer com que eu me entocasse. E eu o fiz.
— A chance de que alguém pudesse ter visto você. Teriam nos informado. E estávamos prontos para agir rapidamente.
— Um alerta geral.
O comunicado de imprensa que Rhyme havia coagido o alto escalão da polícia a soltar relatava que o homem conhecido como Richard Logan, também conhecido como o Relojoeiro ou Dave Weller, havia escapado dias atrás da prisão federal em Westchester. O retrato falado foi repassado, junto da pista de que ele poderia estar fingindo ter um sotaque sulista.
— Mas ninguém me pegou — apontou o Relojoeiro. — Ninguém me apagou. Já que estou... onde quer que eu esteja.
— Ah, e, por sinal, não estou nem perdendo tempo em rastrear a ligação. Você está usando uma máscara de rede e redirecionamento de chamadas.
Não havia sido uma pergunta.
— E nós invadimos o escritório de advocacia de Weller.
Uma risada.
— A secretária eletrônica, a caixa postal e o site?
— Inteligente — comentou Rhyme. — A especialidade em mortes por negligência pareceu um pouco cruel.
— Pura coincidência. Primeira coisa que me veio à mente.
— Ah, só por curiosidade: você não é exatamente Richard Logan, não é?
— perguntou Rhyme. — Esse é só um dos seus pseudônimos.
— Correto.
O homem não forneceu a Rhyme seu nome verdadeiro e ele não fez questão de pressioná-lo.
— Então como você descobriu que eu tinha escapado?
— Como quase tudo o que fazemos, o que nós dois fazemos... Eu tinha um postulado.
— Um palpite — disse o Relojoeiro.
Rhyme pensou em Sachs, que frequentemente repreendia sua ridicularização da palavra, e sorriu.
— Se assim deseja.
— O que você verificou empiricamente depois. E o que gerou esse postulado?
— Na mochila de Billy Haven encontramos um caderno, A Modificação, um manual para inserir toxina botulínica no sistema de abastecimento de água de Nova York. Elegante ao extremo. Era como um esquema de engenharia, cada passo era descrito, cronometrado minuto a minuto. Eu duvidei de que Billy e os Stantons poderiam ser capazes de criar algo tão elaborado quanto aquilo: um serial killer que nos enganaria com um plano de atacar o sistema de águas com bombas, que na verdade servia para encobrir o verdadeiro plano que era envenenar a água. E você aprendeu como potencializar a toxina. Resistente ao cloro. Bela jogada aquela.
— Você encontrou o caderno? — O homem parecia descontente. — Eu disse para Billy transcrever tudo para um arquivo digital criptografado em um computador sem acesso à internet. E destruir o original. — Uma pausa.
— Mas não estou surpreso. Aquele pessoal todo do sul de Illinois parecia bastante analógico. E, sim, não particularmente inteligentes. Como as toxinas que Billy decidiu usar? Eu recomendei substâncias químicas comerciais, mas Billy tinha essa afeição por plantas. Ele passava muito tempo sozinho na floresta, pelo que entendi, fazendo desenhos delas quando era mais jovem. Infância difícil quando seus pais são assassinados pelo governo federal e sua bússola moral é uma milícia neonazista.
— A Modificação? Você que cunhou a palavra?
— Sim, fui eu. Embora eu tenha me inspirado no passatempo de Billy.
Modificação corporal. Parecia se encaixar em suas crenças apocalípticas.
Fiquei envergonhado, na verdade. Muito na cara. Mas eles gostavam do som.
— Você ditou para Billy o plano todo?
— Isso mesmo. E para a tia dele. Mas Billy anotou. Eles vieram me visitar na prisão. A história de fachada era Billy estar escrevendo um livro sobre a minha vida. — Ele pausou. — Tem uma história que estou morrendo de vontade de contar, mas não tinha achado ainda o ouvinte adequado. Acho que você vai gostar, Lincoln. Quando eu havia acabado de passar o plano para Billy e ele escreveu tudo, eu disse: “É todo seu, Moisés.
Vá em frente.” Billy e Harriet não entenderam. Eu sei que você está familiarizado com o conceito de Deus como um relojoeiro.
Ao contemplar a origem do universo, Isaac Newton, René Descartes e outros da revolução científica nos séculos XVII e XVIII discutiram sobre o fato de um projeto precisar de um projetista. Se algo tão complexo quanto um relógio não podia existir sem um relojoeiro, por analogia, a vida humana no universo — algo muito mais complexo que um relógio — com certeza não poderia existir sem um Deus.
— Eu tive que explicar isso, dado o meu apelido, ditando A Modificação como se eu fosse Deus, entregando em mãos os Dez Mandamentos a Moisés. Quis fazer uma piada. Mas eles levaram a sério. Eles começaram a se referir ao plano como os Mandamentos da Modificação. — Estalou a língua. — Sinto pena daqueles que não apreciam a ironia. Mas, voltando ao assunto: como você chegou a mim... se é que está disposto a compartilhar.
— Claro.
— Você tinha o caderno. Mas não estava escrito com a minha letra; era a de Billy. Nenhuma impressão digital ou DNA. Eu nunca toquei nele. E sim, havia muitas referências à cronometragem precisa: quando administrar o veneno e onde, os ataques diversionistas, quando fazer com que Joshua, primo de Billy, pegasse as baterias e as luzes nas passagens subterrâneas onde os crimes ocorreram, quantos minutos após alguém ter ligado para a emergência a polícia levaria para chegar. Está tudo na cronometragem, claro. Mas saltar disso para a minha fuga da prisão?
Rhyme se perguntava onde o homem estava, qual seria sua postura.
Será que estava lá fora, com frio? Ou lá fora, no calor, em um clima agradável? “Arqui-inimigo” era um termo impreciso, para não mencionar melodramático. Mas Rhyme se permitia pensar sobre o Relojoeiro dessa forma. Ele disse: — Evidência.
— Isso não me surpreende, Lincoln. Mas o quê?
— A tetrodotoxina. Encontramos vestígios.
O superveneno do baiacu.
— Ah, não... — Um suspiro do outro lado da linha. — Eu disse a Billy para destruir qualquer resíduo.
— Tenho certeza de que ele tentou. Havia apenas uma quantidade minúscula no vestígio em uma das cenas. — Rhyme, mais que qualquer pessoa, sabia como era difícil banir todos os traços de uma substância. — Não encontramos nenhum em seu esconderijo, então de onde teria vindo?
Eu verifiquei com o Programa de Apreensão de Criminosos Violentos e ninguém havia usado a toxina em crimes relatados nos últimos anos. Então o que Billy estava fazendo com a tetrodotoxina? Daí me ocorreu: uma pista foi o apelido, a droga zumbi. Para induzir a aparência de um ataque cardíaco e morte.
— Verdade — admitiu o Relojoeiro. — Billy me entregou um pouco, escondeu nas páginas do livro. Na prisão eles procuram por facas e heroína, e não miligramas de ovas de peixe. Eu usei para fingir o ataque cardíaco e ser transferido para o hospital em White Plains.
Era uma gaivota grasnando ao fundo? E depois um apito de navio? Não, uma buzina de nevoeiro. Interessante. Elas eram pouco usadas em tempos de radar e GPS. Rhyme anotou. Um brilho em sua tela de computador. Era uma mensagem de Rodney Szarnek, o especialista em crimes digitais. Ele relatava que a análise da ligação do Relojeiro para Rhyme não obtivera êxito; ela havia sido interrompida em um servidor anônimo no Cazaquistão.
Rhyme tinha mentido sobre o rastreamento da ligação.
Deu de ombros mentalmente — quem não arrisca, não petisca — e retornou à conversa.
— Mas o que finalmente me convenceu foi um erro que você cometeu.
— Mesmo?
— Quando você estava na rua com Ron Pulaski, você mencionou a tentativa de ataque ao oficial da polícia federal no México. Projeto que você havia organizado há alguns anos.
— Certo. Eu quis mencionar algo específico. Para dar credibilidade.
— Ah, mas esse caso era confidencial. Se você fosse um advogado legítimo que nunca havia conhecido Richard Logan, como dizia, não teria conhecimento sobre o trabalho na Cidade do México.
Uma pausa. Depois: — Confidencial?
— Aparentemente o Departamento de Estado e o gabinete legal mexicano não estavam felizes com o fato de você, um americano, ter ficado a minutos de matar um policial mexicano de alta patente. Eles preferiram agir como se o incidente nunca tivesse acontecido. Não foi divulgado pela imprensa.
— Ah. — Ele soou amargo.
— Agora, você me responde uma pergunta — disse Rhyme.
— Tudo bem.
— Como conseguiu o trabalho? Para os Stantons e o PCFA?
— Já estava na hora de sair da cadeia. Eu entrei em contato com as pessoas que estavam envolvidas em incidentes de terrorismo doméstico há alguns anos, quando eu e você estávamos nos confrontando. Você se lembra?
— Claro.
— Eles me levaram ao PCFA, outra milícia de supremacia branca. Eu disse que podia colocá-los no mapa. Harriet e Billy vieram me visitar na prisão, e dei a eles o plano. Por sinal, você viu aqueles dois juntos, tia e sobrinho? Aquela dinâmica era preocupante. Dá todo um novo significado ao nome Conselho da Família Americana.
Rhyme objetou. A observação, verdadeira ou falsa, não era de seu interesse.
— Eles queriam renome — continuou o Relojoeiro. — Então pensei muito sobre aquilo. Eu inventei a ideia do botulismo na água potável.
Descobri que Billy era um tatuador. Iríamos tatuar as vítimas com mensagens do Antigo Testamento. Apocalipse, eu me referia. Eles adoram esse tipo de retórica. Golpear com base em seus valores idiotas. Eles também amaram quando sugeri que usassem veneno como arma de assassinato. Justiça para a minoria e valores socialistas que estavam envenenando a sociedade etc., etc. Ah, eles simplesmente adoraram. Bem, Matthew adorou. Billy e Harriet pareciam um pouco mais preocupados.
Você sabe, Lincoln, as pessoas de mentalidade limitada são as mais perigosas.
Não necessariamente, refletiu o cientista forense, considerando o homem com quem estava conversando naquele momento.
— Então — continuou Rhyme —, em troca do plano eles entregaram a você a tetrodotoxina. E conseguiram subornar funcionários do hospital e guardas da prisão para que você fosse declarado morto e posto para fora da cadeia. E que encontrassem um cadáver de um sem-teto para ser enviado para a funerária e ser cremado.
— Mais ou menos.
— Deve ter sido caro.
— Vinte milhões em dinheiro vivo no total.
— E a charada na funerária? Você como Weller. Por que aquilo?
— Eu sabia que você mandaria alguém para ver quem ia coletar as cinzas. Eu tinha que fazer você acreditar de verdade que o Relojoeiro estava morto. A melhor maneira de fazer isso era ter o advogado indignado da família ali para coletar as cinzas... e denunciar seu policial à paisana para as autoridades. Aquilo foi uma reviravolta maravilhosa. Não antecipei isso.
Rhyme disse em seguida: — Mas uma coisa eu não compreendo: Lon Sellitto. Você o envenenou, claro. Você pegou uma roupa de bombeiro emprestada no local do ataque no Condomínio Belvedere e deu café envenenado a ele.
— Você também descobriu isso?
— Arsênico é um veneno metaloide. Billy usava somente toxinas oriundas de plantas.
— Hum. Deixei isso escapar. Mea culpa. Me diga, Lincoln, você era um daqueles meninos que devoravam livros infantis de passatempos e sempre sabia onde estavam os erros na figura?
Sim, ele havia sido um desses meninos e, sim, ele sabia onde estavam os erros.
— E você colocou os analgésicos manipulados na bolsa da Amelia Sachs — complementou Rhyme.
Uma pausa longa.
— Você os encontrou?
No mesmo minuto que Rhyme deduziu que o Relojoeiro ainda estava vivo e provavelmente por trás do ataque a Lon, ele havia informado Sachs, Pulaski e Cooper a serem cautelosos quanto a possíveis ataques. Ela se lembrara de que alguém havia se sentado perto dela na cafeteria onde estava com uma testemunha do caso do Metropolitan e tinha encontrado um segundo frasco de analgésicos dentro da bolsa.
— Arsênico também? — perguntou Rhyme. — Os resultados ainda não voltaram.
— Vou contar a você, já que descobriu. Antimônio.
— Viu, é isso que eu não entendo: tentar matar Amelia e Lon e colocar a culpa nos Stantons? — disse Lincoln Rhyme. — Era você vestido de Billy Haven nas cenas? Olhando para ela pela tampa do bueiro na Elizabeth Street. Fora do restaurante em Hell’s Kitchen. No prédio perto do Belvedere.
— Isso mesmo.
— Então por quê...? — Sua voz diminuiu. Os pensamentos vinham rapidamente, explodindo como fogos de artifício. — A não ser que...
— Está acompanhando, não é, Lincoln?
— Vinte milhões de dólares — sussurrou. — Para comprar a sua liberdade. É impossível que os Stantons ou o PCFA tenham conseguido todo esse dinheiro para subornar os guardas e os médicos. Não, não. Eles não operam com tanta verba assim. Outra pessoa financiou a sua saída. Sim!
Alguém que precisasse de você para outro trabalho. Você usou o PCFA para encobrir outra coisa.
— Ah, esse é o meu Lincoln — comentou o Relojoeiro.
A voz era arrogante e, por um instante, a raiva de Rhyme explodiu. Mas em seguida um pensamento veio e ele gargalhou: — Lon. Lon Sellitto! Ele era o porquê disso tudo. Você precisava que ele morresse ou estivesse fora do caso, e usou o PCFA como bode expiatório.
— Exatamente — sussurrou o homem. E o tom de sua voz era sarcástico ao dizer: — Prossiga.
— O caso em que ele havia trabalhado. É claro. A invasão ao Metropolitan Museum of Art. Ele estava quase descobrindo sobre o que se tratava e seu empregador precisava impedi-lo. — Considerou outros fatos.
— E Amelia também. Porque ela havia assumido o caso do Met... Mas você está admitindo tudo isso agora. — Rhyme perguntou devagar, incomodado: — Por quê?
— Acho que vou deixar por aí, Lincoln. Provavelmente não vai ser bom se eu disser muito mais. Mas vou te dizer que ninguém mais está correndo risco agora. Amelia está a salvo. A única razão de envenená-la ou a Ron ou seu brilhante assistente nerd, Mel Cooper, seria para colocar a culpa no PCFA. E, obviamente, isso não faria sentido agora. Além do mais, eu mudei de tática.
Rhyme visualizou o homem dando de ombros.
— Você também está a salvo, é claro. Você sempre esteve.
Sempre estive?
Rhyme deu uma risada.
— O telefonema anônimo de alguém invadindo a minha casa pela porta dos fundos. Quando Billy se escondeu aqui para envenenar meu uísque.
Aquilo foi você.
— Eu estava acompanhando o progresso dele. Na noite em que ele foi para a sua casa, eu o estava seguindo. Não era para ele matar você, nem o machucar de forma alguma. Quando ele colocou o macacão de trabalhador e deixou a agulha pronta, eu sabia o que ele ia aprontar.
Aquilo não fazia sentido algum.
Até que, logo depois, deduziu outra coisa.
— Você precisa de mim para alguma coisa — sussurrou Rhyme. — Você precisa de mim vivo. Por quê? Para investigar um crime, claro. Sim, sim.
Mas qual? Algum cometido recentemente? — Quais eram os crimes especiais abertos?, questionou-se Rhyme. E depois percebeu. — Ou algum que ainda vai acontecer? Semana que vem?
— Ou mês que vem ou ano que vem — ofereceu o Relojoeiro, soando entretido.
— A invasão ao Metropolitan Museum? Ou alguma outra coisa?
Sem palavras.
— Por que eu?
Uma pausa.
— Vou só dizer que o plano que organizei precisa de você.
— E ele precisa que eu esteja ciente disto — revidou Rhyme. — Então, meu conhecimento sobre isso é uma engrenagem ou uma mola ou um pêndulo no seu relógio.
Uma risada.
— Que ótima colocação. É tão revigorante conversar com alguém que entende... Mas agora tenho que ir, Lincoln.
— Uma última pergunta?
— Claro. Se vou responder já é outro assunto.
— Você disse para Billy encontrar aquele livro, Cidades em série.
— Exato. Eu tinha que me certificar de que ele e os Stantons entendessem como você é bom, o quanto você e Amelia sabem sobre as milícias e suas táticas.
— Você não tinha interesse em particular pelo Colecionador de Ossos?
Então me enganei — comentou Rhyme pesarosamente.
— Acho que sim.
Uma gargalhada e Rhyme disse: — Então a conexão que encontrei entre você e o Colecionador de Ossos não existia?
Uma pausa.
— Você encontrou uma conexão entre nós dois? — O Relojoeiro parecia curioso.
— Há um famoso relógio em exposição aqui em Manhattan. É feito inteiramente de osso. Algum russo, eu acho. E pensei que talvez roubá-lo fizesse parte da sua agenda.
— Tem um Mikhail Semyonovitch Bronnikov na cidade?
— Acho que era isso mesmo. E você não sabia?
— Estive bastante... ocupado recentemente — justificou o Relojoeiro. — Mas conheço a peça. É bastante surpreendente. Meados de 1860. E você está certo: feito inteiramente de osso, cem por cento.
— Suponho que não faria sentido para você se arriscar a ser pego, e perder seu tempo, por assim dizer, para tentar invadir um antiquário em Manhattan e roubar um relógio.
— Não, mas seu raciocínio foi criativo, Lincoln. Exatamente o que eu esperaria de você. — Outra pausa. Rhyme imaginava que ele estava olhando o próprio relógio. — Agora acho que é melhor dizermos tchau, Lincoln. Estive na linha por tempo demais. Às vezes esses servidores podem ser rastreados, sabe. Não que você fosse tentar. — Uma gargalhada. — Até a próxima...
Semana que vem, mês que vem, ano que vem.
E a linha ficou muda.
Ron Pulaski assumira o trabalho de vasculhar a Funerária Berkowitz atrás de evidências e testemunhas, procurando qualquer pista que levasse ao Relojoeiro.
Ele parecia ter ficado bastante chateado e posto toda a culpa em si mesmo pela falha durante a missão sob disfarce, apesar de dificilmente ter tido qualquer culpa; o Relojoeiro o havia reconhecido imediatamente.
Tinha visto o jovem policial como parte de seu projeto em Nova York há alguns anos.
Além do mais, Rhyme sabia que, mesmo se a missão tivesse ocorrido de forma exemplar, o garoto era um péssimo ator. Os melhores artistas não faziam o papel de uma personagem; se transformavam nela.
Gielgud...
Na casa funerária, o jovem policial tinha coletado vestígios dos documentos que Richard Logan — ou seja lá qual fosse seu nome real — assinara e de onde ele havia pego a caixa contendo os restos mortais do mendigo não identificado do necrotério municipal. Ele interrogara também todos os que estiveram na funerária na mesma hora que o Relojoeiro, incluindo os parentes de um certo Benjamin Ardell, também conhecido como Jonny Rodd, seja lá quem fosse. Mas não encontrara nenhuma pista.
Nada também entre os agentes do FBI de Nova York, que também foram enganados pelo Relojoeiro. Os agentes não tiveram muito contato com “Dave Weller” além de ligações telefônicas. E o celular que ele havia usado, para o desalento de Pulaski, sumira havia muito tempo. A bateria num esgoto, o aparelho partido ao meio em outro.
Sachs estava lidando com outro aspecto do caso, localizando quem havia ajudado Logan dentro das instituições: médicos, um funcionário do necrotério de Nova York e vários guardas da penitenciária. Para Rhyme, eles assumiram um risco astronômico. Se fosse descoberto que o Relojoeiro estava vivo, a lista de suspeitos seria bem curta; era certo que seriam identificados. Mas Rhyme supôs que não era problema do Relojoeiro se eles não escondessem a propina ou que não inventassem álibis críveis depois de forjarem relatórios médicos e certificado de óbito.
É preciso ser esperto para ganhar alguns milhões ilegalmente.
Um ou dois haviam conseguido sair da cidade, mas era apenas uma questão de tempo até serem rastreados. Não é uma boa ideia usar seu cartão de crédito verdadeiro quando se está em fuga. A seleção natural se aplica a atividades criminosas tanto quanto a salamandras e símios.
Rhyme também estava conduzindo uma parte da investigação, apesar de, curiosamente, não a que analisa as evidências. O cientista forense havia elaborado seus próprios planos meticulosos.
Provavelmente não dariam em nada, mas ele não poderia se dar ao luxo de deixar passar qualquer oportunidade.
Ele agora olhava pela janela, examinando o clima — novamente nublado, branco e cinza — e pensou consigo mesmo: cadê você? E o que está tramando? Por que você invadiu o Met? E para qual parte do plano você precisa de mim vivo?
Thom apareceu à porta.
— Conversei com Rachel. Saímos em uma hora?
— Pode ser — respondeu Rhyme.
A viagem a qual eles se referiam os levaria ao centro médico. Lon Sellitto havia recuperado a consciência. Mesmo em seu frágil estado de saúde, o detetive ainda mantinha o senso de humor. Rachel falou que a reação dele ao voltar para o mundo dos despertos havia sido olhar para baixo em direção à barriga e resmungar, sorrindo: — Puta merda, devo ter perdido uns treze quilos.
Só então perguntara sobre o caso do Suspeito Cinco-Onze.
Mas ainda havia muitas questões acerca de sua recuperação. Vinha sendo tratado, e assim continuaria, com medicamentos para quelação, os quais se acoplariam às toxinas e as desativariam. A recuperação era melhor em casos de pacientes que foram expostos de maneira sistemática, tal como trabalhadores da indústria (ou vítimas de cônjuges pacientemente homicidas), mas era problemática em casos agudos, como o de Sellitto. A melhora do detetive a longo prazo ainda era incerta. Danos aos nervos, fígado e rins eram possibilidades reais.
Talvez mesmo paralisia permanente.
O tempo diria.
Amelia Sachs entrou na sala.
— Lon? — perguntou ela.
— Saímos daqui a mais ou menos uma hora.
— Devemos comprar flores? — indagou ela.
— Já enviei flores essa semana — resmungou Rhyme. — Não vou fazer isso de novo.
Naquele instante o telefone do laboratório tocou. Sachs, de um lugar onde conseguia ver o número de quem ligava no monitor, disse rapidamente:
— Rhyme. Acho que está acontecendo.
Ele se aproximou com a cadeira de rodas.
— Ah.
Então apertou aceitar chamada.
— Sim?
— Senhor Rhyme, aqui é o Jason? Jason Heatherly? — As frases excessivamente interrogativas eram rápidas, a voz aturdida. — Eu...
— Eu me lembro do senhor, senhor Heatherly.
Como Rhyme não lembraria? Haviam conversado bastante havia apenas uma semana.
— Bem, ele... Eu não sei como explicar isso... Mas o que você disse que poderia acontecer, aconteceu.
Rhyme e Sachs trocaram um sorriso.
— Ele se foi. Impossível, sumiu. Os alarmes estavam armados quando eu saí na noite passada. Eles estavam ligados quando cheguei aqui hoje de manhã. Nada foi tocado. Nada fora do lugar. Nada. Mesmo. Mas ele sumiu.
— Francamente.
O “ele” ao qual o agitado joalheiro estava se referindo era um relógio. O relógio Mikhail Semyonovitch Bronnikov feito todo de osso.
Ao contrário do que dissera ao Relojoeiro, Rhyme não acreditara que o homem tivesse qualquer conexão com o Colecionador de Ossos. Havia falado sobre o tal relógio apenas para lançar uma isca para o Relojoeiro morder.
E qual melhor modo de fisgar um homem cuja força — e fraqueza — era o tempo e seus dispositivos do que usar um relógio raro?
Rhyme ficara sabendo que um Bronnikov, um dos poucos existentes, estava em Londres, mas não à venda. Mas havia convencido o dono a mudar de ideia (convencimento adicionado a vinte mil dólares) e gastou mais dez mil no transporte aéreo do relógio até Nova York. Ron Pulaski fora o mensageiro.
Rhyme ligara para Fred Dellray e soubera que havia um negociante de arte sendo acusado de evasão fiscal, Jason Heatherly. Dellray fez com que o promotor retirasse algumas das acusações se Heatherly cooperasse; os agentes federais queriam o Relojoeiro de volta à prisão tanto quanto Rhyme e o Departamento de Polícia de Nova York.
Heatherly concordou e o relógio foi entregue a ele e colocado à mostra numa caixa em sua galeria de arte/loja de antiguidades localizada em Upper East Side.
Em sua conversa com o Relojoeiro uma semana atrás, Rhyme trouxera à tona o assunto do Colecionador de Ossos e então casualmente mencionou o relógio Bronnikov, citando que ele estava em uma galeria de Manhattan.
Tentara ser despretensioso e esperou que sua atuação tivesse sido mais convincente que a de Ron Pulaski.
Aparentemente foi.
Muitos dias depois da conversa, Heatherly relatou que um homem havia ligado, perguntando sobre relógios que a galeria teria à venda — apesar de não perguntar nada em específico sobre o Bronnikov. Heatherly descrevera o inventário para ele, incluindo uma menção ao relógio de ossos, e o homem havia agradecido e desligado. O identificador de chamada mostrou Desconhecido.
Rhyme e uma força-tarefa ponderaram sobre como lidar com a situação.
O FBI queria manter a vigilância e ter uma equipe pronta para abordagem perto da galeria, preparada para avançar assim que alguém chegasse ali para comprar ou roubar o relógio. Rhyme disse que não. O Relojoeiro os avistaria de cara. Eles precisavam de uma abordagem diferente, mais sutil.
Então os especialistas em vigilância do FBI e da polícia de Nova York instalaram um rastreador em miniatura na pulseira metálica do relógio. O dispositivo permaneceria desligado, indetectável para quaisquer sensores de ondas de rádio, a maior parte do tempo. A cada dois dias enviaria — por um milissegundo — sua localização para a Rede Internacional Consolidada de Geolocalização por Satélite, que cobria quase que todas as áreas povoadas do mundo. E então voltaria a hibernar.
Os dados sobre a localização seriam enviados diretamente para os computadores da força-tarefa. Se o Relojoeiro estivesse em rota de fuga, poderiam saber com precisão por qual país e região ele estava passando e alertar as autoridades fronteiriças. Ou, se estivessem com sorte, poderiam encontrá-lo parado em um lugar, saboreando vinho gelado numa praia e admirando o relógio roubado.
Ou, talvez, ele destacaria imediatamente o relógio da pulseira duvidosa, e já o teria enviado para o Sri Lanka e prosseguiria com seus planos, seja lá qual invasão ou assassinato ele estivesse planejando realizar.
Então, meu conhecimento sobre isso é uma engrenagem ou uma mola ou um pêndulo no seu relógio...
O dono da galeria continuou a se explicar sobre o arrombamento.
— Isso é impossível — disse, ofegante. — Os alarmes. As travas. As câmeras de segurança.
Rhyme havia insistido para que não houvesse falhas propositais na segurança com o intuito de facilitar que o Relojeiro roubasse a isca; o sujeito suspeitaria na hora e cancelaria a operação.
— Simplesmente não tem como alguém entrar aqui — continuou Heatherly.
Mas eles não estavam lidando com um alguém qualquer, refletiu Rhyme, e sem comentar nada resmungou um adeus ao dono da galeria e desligou o telefone.
Agora a gente espera.
Um dia, um mês, um ano...
Afastou sua cadeira de rodas da mesa de análise olhando para outro relógio — o Breguet que o Relojoeiro dera a ele há alguns anos.
Rhyme agora dizia para Sachs: — Ligue para Pulaski. Quero que ele participe da busca na galeria de arte.
Sachs conversou com o policial e o enviou para averiguar a cena da loja de Heatherly. Rhyme não tinha muitas esperanças de conseguir evidências no local do roubo. Ainda assim, precisavam pôr os pingos nos is.
— Thom — disse Rhyme —, antes de sairmos para visitar Lon, quero uma dose para levar comigo. Dupla, por gentileza.
Ficou na defensiva. Mas, por algum motivo, o ajudante não fez objeção ao consumo do excelente, envelhecido — e sem veneno — uísque single malt. Talvez ele estivesse sendo compreensivo com relação ao fato de que, enquanto Rhyme havia de fato evitado um ataque terrorista, o Relojoeiro poderia estar escapando. E Rhyme provavelmente perderia trinta mil no processo todo.
Um copo apareceu no porta-copos.
Rhyme deu um gole na bebida defumada. Boa, muito boa.
Enviou e respondeu vários e-mails de TT Gordon, a quem Rhyme se afeiçoara. O rapaz faria uma visita e passaria um tempo com o cara da cadeira de rodas na próxima semana. Conversariam sobre gramática e cultura samoana, sobre a vida na descolada Nova York. E sabe-se lá quais outros assuntos e, talvez, projetos poderiam surgir.
Monte Everest e falcões, quem sabe?
Virou a cabeça atentamente. O barulho de pegadas esmagando gelo do lado de fora. Então um clique na fechadura da porta da rua, mais passos.
Rhyme tomou outro gole. O som já indicava tudo. Sachs, entretanto, não interpretou a evidência sonora e permaneceu atenta... até que Pam Willoughby chegou ao batente da porta e parou.
— Ei. — A adolescente acenou a todos, desenrolando um cachecol notável do pescoço. O dia estava sem vento ou neve, mas devia estar frio.
Seu lindo nariz estava róseo e seus ombros encolhidos.
Os de Amelia, no entanto, estavam caídos, mas ela conseguiu sorrir.
Lembrava-se de que Pam tinha dito que pegaria o carro dos padrastos emprestado para vir e pegar suas coisas no quarto lá em cima.
Silêncio por um momento. Sachs parecia puxar forte o ar.
— Como estão as coisas?
— Ok. Tudo bem. A peça estreia oficialmente na semana que vem. Cheia de coisas. Vestimenta vitoriana. Pesam pacas. Os vestidos.
Amenidades. Conversa sem muito sentido.
Silêncio. Sachs disse: — Vou te ajudar a pegar suas coisas. — Indicando as escadas com o olhar.
Pam lançou um olhar pela sala de estar, evitando os dos outros.
— Bem, na verdade, quero dizer, você acha que estaria tudo bem se eu voltasse a morar aqui? Só por enquanto, até eu achar outro lugar? Não queria voltar a morar lá em Heights. É que, você sabe, com tudo o que aconteceu lá. E os Olivetti... eles são ótimos. Mas... — Olhou para o chão.
Então para a frente. — Pode ser?
Sachs foi rápido na direção dela e a abraçou com força.
— Essa é uma pergunta que você nunca precisa fazer.
— Você tem coisas lá fora que precisa trazer para cá? — perguntou Thom.
— No carro. Sim, seria ótimo uma ajuda com isso.
Thom se agasalhou, vestindo seu próprio cachecol e um gorro de astracã de pele falsa. Seguiu acompanhado de Pam até o carro lá fora.
Sachs colocou seu casaco, caçou suas luvas e se juntou a eles. Não chegou a passar pelo arco da porta separando a sala do hall de entrada.
Virou-se para Rhyme.
— Espere um instante.
— Esperar?
Ela se aproximou, pendeu a cabeça para o lado como se estivesse encarando um bandido que acabara de algemar, e olhou para baixo. Num tom de voz calmo: — Thom trocou a fechadura semana passada. Depois que Billy invadiu a casa.
Rhyme deu de ombros. Tomou um gole da bebida single malt.
— Hum.
— E?
— E o quê? — resmungou ele.
— Pam não bateu à porta, agora há pouco. Ela abriu a porta. Isso significa que ela tinha uma das novas chaves.
— Novas chaves?
— Por que você está repetindo o que eu digo? Como Pam conseguiu as chaves novas? Ela não vem aqui já faz mais de uma semana.
— Hum. Não sei. Isso é um mistério.
Ela disparou um olhar desconfiado na direção dele.
— Rhyme, se eu olhasse agora seus registros de chamada no celular, encontraria alguma ligação recente para Pam?
— Quando eu tive tempo para conversar com alguém? De qualquer modo, não sou do tipo proseador. Pareço ser alguém que gosta de conversar?
— Você está fugindo da pergunta.
— Se você olhasse meu registro de chamadas no celular, não, você não encontraria nenhuma ligação para Pam. Nem recente nem antiga.
Aquilo era verdade; ele havia apagado todas.
É claro, Rhyme se esquecera de que Sachs poderia captar no ar a conspiração depois que ele tinha enviado para Pam as chaves novas, poucos dias atrás, depois da, ok, “conversa” que tiveram.
Sachs deu uma risada, inclinou-se e o beijou com vontade, então saiu pela porta para ajudar com a mudança.
Deixando Rhyme livre para fazer o que ele estava ansioso para fazer já há algumas horas. Ele deslocou sua cadeira de rodas de volta até a mesa de análise.
Sobre uma bandeja estéril estava um pouco de resina esbranquiçada de plástico ou de argila, que havia sido encontrada alojada na pulseira do relógio de um banqueiro assassinado na noite anterior no Upper East Side.
O assassinato em si não era nada extraordinário — Rhyme estava totalmente no modo de Ponto de Vista Sobre a Morte Número Um aqui —, mas o que parecia ser incomum ali era que o corpo havia sido achado perto de uma obra entre a Madison e a Park Avenue: as paredes a oeste da fundação do edifício estavam localizadas a cerca de três metros de um túnel subterrâneo que levava, depois de dar muitas voltas, diretamente aos arquivos subterrâneos do Metropolitan Museum of Art.
A cena do crime indicava ter havido uma intensa luta corporal. Parecia que a origem da evidência de cor bege na pulseira pertencia ao assassino e aquilo poderia indicar pistas sobre a identidade do homem ou da mulher que ceifara a vida da vítima.
Mas, até que o material fosse identificado e sua origem determinada, aquela conclusão auspiciosa era um leve sopro de suposição. Deveria se provar válida para que a registrasse no quadro-branco, ou provar-se falsa e então a descartaria como as folhas do outono que caíam das árvores do outro lado de sua janela. Rhyme preparava agora uma amostra para ser analisada pelo cromatógrafo, e se dirigia com sua cadeira de rodas em direção àquela máquina barulhenta para ver qual das duas alternativas provaria ser a correta.
Jeffery Deaver
O melhor da literatura para todos os gostos e idades
















