



Biblio VT




OS DOIS POETAS DE SAFFRON PARK
O arrabalde de Saffron Park, rubro e esfarrapado como uma nuvem ao pôr do Sol, ficava a poente de Londres. Todo de tijolo vermelho, construído sem plano, tinha um perfil fantástico. Fora o grande rasgo de um construtor especulativo, besuntado de arte, que atribuía às suas construções, umas vezes, o estilo «isabelino», outras vezes o do tempo da rainha Ana, parecendo confundir as duas soberanas. Nunca ali se produzira verdadeiramente arte, mas consideravamno, e com alguma justiça, uma colónia artística. As suas pretensões a centro intelectual seriam talvez um pouco vagas, mas ninguém poderia negar que era um sítio agradável.
Quem via pela primeira vez as suas estranhas casas vermelhas não podia deixar de pensar que as pessoas que lá se acomodavam deviam ser um pouco fora do comum. E quando travava conhecimento com ela não ficava desiludido.
O local não era desagradável, era mesmo perfeito, desde que não se encarasse como uma decepção, mas sim como um sonho.
Os habitantes não seriam «artistas»; o conjunto, no entanto, era artístico. Aquele rapaz, de longa cabeleira cor de cenoura e rosto impudente, talvez não fosse um poeta, mas era decerto um poema. E esse velho respeitável, de barba branca e desleixada, e chapéu também branco e desleixado – esse venerável charlatão não seria, na verdade, um filósofo, mas pelo menos provocava filosofia. E aquele cientista, careca como um ovo e de pescoço de ave, comprido e nu, não tinha direito algum aos seus ares científicos: nunca descobrira nada em biologia; mas que ser poderia descobrir mais singular do que ele próprio?
Só havia uma maneira justa de encarar tudo aquilo: era não o considerar como oficina de artistas, mas sim como uma obra de arte, acabada e frágil. Quem se embebia na sua atmosfera social sentia-se logo em plena comédia.
Ao cair da noite, quando os extravagantes telhados se recortavam escuros no crepúsculo e toda aquela louca aldeia parecia tão isolada como uma nuvem à deriva, experimentava-se mais a atracção da irrealidade; principalmente nas muitas noites de festejos locais, quando os jardinzinhos estavam profusamente iluminados e as grandes lanternas chinesas brilhavam suspensas de minúsculas árvores, parecendo frutos selvagens e monstruosos; e muito em particular numa célebre noite, ainda vagamente lembrada no sítio, da qual o poeta ruivo foi o herói. Mas nem por sombras tinha sido a única de que ele fora o herói. Em muitas outras noites, quem passasse pelo jardinzinho das traseiras de sua casa poderia ouvi-lo, em voz alta e didáctica, ditando a lei aos homens e especialmente às mulheres. A atitude destas, em tais casos, era deveras um dos paradoxos do sítio. A maior parte pertencia à espécie vulgarmente chamada de emancipadas, que protesta contra a supremacia masculina. No entanto, essas mulheres modernas lisonjeavam um homem como qualquer outra mulher o não faria – ouviam-no enquanto ele falava. E Lucian Gregory, o poeta ruivo, merecia, na verdade, ser ouvido; ainda que fosse só para depois nos rirmos. Defendia a velha teoria da indisciplina da arte e da arte da indisciplina, com tal frescura e audácia que, de momento, agradava. O seu aspecto extravagante, na verdade cultivado por ele o mais possível, ajudava-o muito. Tinha o cabelo vermelho-escuro apartado ao meio, como uma mulher, caindo em vaporosos caracóis, de virgem pré-rafaelita. Porém, desta angélica moldura projectava-se inesperadamente um rosto largo e brutal, de queixo espetado e com ar de desprezo gaiato. Este conjunto excitava e amarfanhava os nervos daquela população de neuróticos. Parecia uma blasfémia viva, um cruzamento de anjo com chimpanzé.
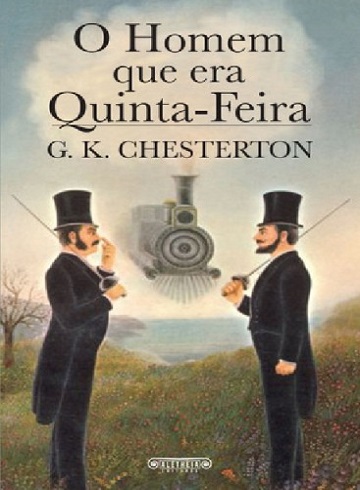
Aquela noite, se não for lá relembrada por mais nada, sê-lo-á pelo estranho pôr do Sol. Parecia o fim do Mundo. Todo o céu estava coberto de uma plumagem quase palpável e dir-se-ia que essas penas nos roçavam a cara. Na maior parte eram cinzentas, com os mais estranhos tons de violeta e de malva, de cor-de-rosa e de verde-pálido; mas para ocidente o conjunto tornava-se indescritível, transparente e vivo, e as últimas penas incandescentes escondiam o Sol como coisa preciosa. Tudo aquilo estava perto de mais da terra para significar outra coisa que não fosse um segredo violento; o próprio firmamento parecia ser um segredo, e exprimia aquela esplêndida pequenez que é a essência do bairrismo. Até o céu parecia pequeno.
Algumas pessoas lembrar-se-ão, quanto mais não seja por causa do céu opressivo, outras porém recordá-la-ão por ter coincidido com o aparecimento do segundo poeta de Saffron Park.
O revolucionário da cabeleira vermelha reinara sem rival por muito tempo, mas a sua hegemonia terminou subitamente naquela noite. O novo poeta, que se apresentou com o nome de Gabriel Syme, era um mortal, com ar muito tímido, de barba loira pontiaguda e cabelo amarelo-claro. Mas depressa se generalizou a impressão de que não era tão tímido como parecia. Evidenciouse logo de entrada por discordar de Gregory, o poeta estabelecido, acerca de toda a natureza da poesia. Dizia que ele, Syme, era um poeta cumpridor da lei, um poeta da ordem, mais ainda, um poeta da respeitabilidade. Por isso todo o Saffron Park o olhou como se tivesse caído nesse instante daquele céu incrível.
E de facto o poeta anarquista Lucian Gregory relacionou os dois sucessos.
– Pode muito bem ser – disse no seu tom lírico –, pode muito bem ser que, numa tal noite de nuvens e cores diabólicas, venha à terra semelhante portento, um poeta respeitável. Você diz ser um poeta obediente à lei, eu digo que é uma contradição viva. Só me espanta que não tenha havido cometa e tremores de terra na noite em que você apareceu neste jardim.
O homem dos tímidos olhos azuis e da barba loira, pontiaguda, suportou esta trovoada com certa submissão solene. Rosamond, irmã de Gregory e terceiro elemento do grupo, de tranças ruivas como o irmão, mas de face mais doce, riu-se com aquele misto de admiração e desacordo que tinha habitualmente para com o oráculo da família.
Gregory resumiu gritando com eloquente bom humor:
– Um artista é um anarquista. As duas palavras equivalem-se. Um anarquista é um artista. O homem que atira uma bomba é artista, porque prefere a tudo um momento culminante. Sente que o brilhar de uma chama e um belo estrondo valem muito mais que os corpos desfigurados de meros polícia. Um artista desrespeita todos os governos, suprime todas as convenções. Um poeta só na desordem se sente bem. Se não fosse assim, o metropolitano seria a coisa mais poética do Mundo.
– E é – retorquiu Syme.
– Tolices! – exclamou Gregory, que era muito racional quando outro qualquer tentava paradoxos. – Por que razão todos os passageiros dos comboios têm um ar triste e cansado, tão triste e tão cansado? Vou dizer-lhe: é porque sabem que o comboio vai direito ao seu destino, é porque sabem que chegarão à estação para que tomaram bilhete. É porque sabem que a estação a seguir a Sloane Square será Vitória e nenhuma outra senão Vitória. Oh, que alegria louca! Oh, como brilhariam os seus olhos e como as suas almas voltariam ao Paraíso se a próxima estação fosse, inexplicavelmente, Baker Street!
– Quem não é poeta é você – replicou Syme. – Se o que diz dos passageiros for verdade é porque são tão prosaicos como a sua poesia. Atingir o alvo, eis a coisa rara e estranha; falhá-lo é reles e vulgar. Achamos épico que um homem atinja com uma seta um pássaro distante. Não será também épico atingir uma estação distante com uma máquina? O caos é enfadonho porque nele o comboio podia, de facto, ir parar a qualquer parte, a Baker Street ou a Bagdad. Mas o homem é um mágico, e a sua magia está nisto: diz Vitória, e eis que é Vitória! Fique-se com os seus livros de mera prosa e poesia, e deixe-me ler, chorando de orgulho, um guia do caminho de ferro. Fique com o seu Byron, que comemora as derrotas do homem, e dê-me Bradshaw, que comemora as suas vitórias. A mim Bradshaw, digo eu!
– Tem de se ir embora? – perguntou Gregory, sarcasticamente.
– Digo-lhe – continuou Syme, com paixão – que cada vez que chega um comboio sinto como se ele tivesse passado através de baterias de sitiantes, e que o homem ganhou uma batalha contra o caos. Você diz desdenhosamente que quando se deixa Sloane Square se tem de chegar a Vitória. Digo-lhe que se poderiam fazer mil coisas diferentes, e ao chegar tenho a sensação de ter escapado por pouco. Quando oiço o revisor gritar «Vitória!», dou à palavra o seu sentido. Para mim é o grito de um arauto anunciando a conquista. Para mim é de facto «Vitória», a vitória de Adão.
Gregory abanou lentamente a cabeça e sorriu.
– Mesmo assim, nós, os poetas, perguntamos sempre: e que é a Vitória, afinal? Você pensa que Vitória é como a Nova Jerusalém. Nós sabemos que a Nova Jerusalém apenas será como Vitória. Sim, até nas ruas do céu o poeta estará descontente. O poeta está sempre revoltado.
Syme começou a irritar-se.
– Lá estamos outra vez! Que há de poético em ser-se revoltado? É como se dissesse que estar enjoado é poético. Adoecer é uma revolta. Há ocasiões em que tanto estar doente como estar revoltado é lógico, mas diabos me levem se percebo porque é isso poético. A revolta, em abstracto, é revoltante. É apenas um vómito.
Ao ouvir esta palavra tão desagradável, a rapariga franziu a testa, mas Syme estava entusiasmado de mais para lhe prestar atenção.
– Poético é as coisas correrem direitas. Por exemplo, as nossas digestões decorrendo silenciosa e religiosamente certas, eis o fundamento de toda a poesia. Sim, a coisa mais poética, mais poética do que as flores, mais poética do que as estrelas, a coisa mais poética deste mundo é não estar doente.
– Realmente, os exemplos que você escolhe... – escarneceu Gregory.
– Perdão, esqueci-me que tínhamos abolido todas as convenções.
Gregory corou.
– Você não espera que eu, neste jardim, revolucione a sociedade?
Syme fitou-o nos olhos e sorriu suavemente.
– Não, mas acho que se o seu anarquismo fosse sincero era precisamente isso que faria.
O grandes olhos de touro de Gregory fuzilaram como os de um leão furioso, e a sua juba vermelha, por assim dizer, quase se ergueu.
– Você pensa então – disse em tom ameaçador – que o meu anarquismo não é sincero?
– Perdão!
– O meu anarquismo é ou não sincero? – gritou Gregory, de punhos fechados.
– Oh, meu caro! – fez Syme, e afastou-se.
Foi surpreendido, mas com agrado, que viu Rosamond Gregory acompanhá-lo.
– Sr. Syme, as pessoas que falam como o senhor e o meu irmão são sinceras no que dizem, a maior parte das vezes? É sincero no que diz agora?
Syme sorriu.
– E você?
– Que quer dizer? – perguntou ela muito séria.
– Minha querida Miss Gregory, há muitas espécies de sinceridade e de hipocrisia. Quando lhe passam o saleiro e diz «muito obrigada», é sincera? Não é. Quando diz «o Mundo é redondo», é sincera? Não, é uma verdade, mas você não a diz com consciência. Ora, um homem como o seu irmão por vezes encontra uma coisa em que é sincero. Pode ser apenas meia verdade, um quarto de verdade, um décimo de verdade, mas acontece-lhe dizer mais do que quer à força de o pretender.
Ela fitava-o, e sobre a sua face, grave e atenta, baixara a sombra daquela responsabilidade irreflectida que existe no fundo da mais frívola mulher, o instinto maternal, que é velho como o Mundo.
– Então, ele é de facto um anarquista?
– Só no sentido que lhe dei, ou se prefere, nessa falta de sentido.
Ela carregou o sobrolho e disse abruptamente:
– Mas não seria capaz de atirar bombas ou fazer coisa que o valha?
Syme soltou uma grande gargalhada que pareceu excessiva para a sua figura esguia e correcta.
– Não, meu Deus! Isso tem de ser feito anonimamente.
Ela própria sorriu, pensando com prazer ao mesmo tempo no ridículo e na segurança de Gregory.
Syme foi com ela até um banco, ao canto do jardim, e continuou a despejar as suas opiniões. Porque era sincero e, apesar dos seus ares superficiais, no fundo um humilde. E é sempre o humilde que fala demais, o orgulhoso está constantemente a observar-se. Defendeu a respeitabilidade com violência e exagero, apaixonouse no elogio do arranjo e do asseio. À sua volta havia sempre um cheiro a violetas.
Ouviu vagamente, por momentos, um harmónio a tocar, em qualquer rua distante, e pareceu-lhe que as suas palavras seguiam, audazes, uma música vinda dos fins do Mundo.
Esteve a falar e a olhar para a rapariga; julgou, apenas por alguns minutos, que ela o escutava com cara divertida; depois levantou-se, achando que num lugar daqueles os grupos deviam misturar-se, mas notou com surpresa que o jardim estava deserto. Todos tinham partido há muito, e ele fez o mesmo, dando uma desculpa apressada. Foi-se com a sensação de que bebera champanhe e lhe subira à cabeça, o que mais tarde não conseguiu explicar.
A rapariga não tomou parte alguma nos estranhos acontecimentos que se seguiram, não tornou mesmo a vê-la antes do fim desta história. E no entanto, inexplicavelmente, ela continuou a aparecer-lhe, como um motivo musical, através de todas as loucas aventuras que se seguiram, e a auréola do seu estranho cabelo perpassava como um traço vermelho nessas escuras e imprecisas cenas nocturnas. Porque o que se seguiu era tão incrível que podia muito bem ter sido um sonho.
Quando Syme chegou à rua, iluminada pelas estrelas, encontrou-a momentaneamente deserta, mas sentiu (sem saber bem porquê) que aquele silêncio tinha vida. Mesmo em frente da porta estava um candeeiro, cuja luz punha reflexos na folhagem que ali se debruça sobre a paliçada. Meio metro atrás do candeeiro estava um vulto, quase tão rígido e imóvel como ele. Tinha chapéu alto e casaco preto; a cara, escondida na sombra, não se distinguia. Apenas uma franja de cabelo, cor de brasa, e também qualquer coisa de agressivo na atitude, denunciavam o poeta Gregory. Parecia um espadachim, de arma em punho, à espera do adversário. Cumprimentou um pouco secamente, e Syme correspondeu com mais cortesia.
– Estava à sua espera – disse Gregory. – Pode dar-me duas palavra?
– Decerto. Sobre o quê? – perguntou Syme, um tanto admirado.
Gregory apontou com a bengala para o candeeiro, depois para a árvore.
– Sobre isto e sobre aquilo. Acerca da ordem e acerca da anarquia. Ali está a sua preciosa ordem, aquele candeeiro de ferro, feio e estéril, e aqui está a anarquia, rica, viva, fértil; eis a anarquia, magnífica, em ouro e verde.
– No entanto – retorquiu Syme pacientemente –, você, neste momento, vê a árvore porque o candeeiro a ilumina. Admirar-me-ia muito se conseguisse ver o candeeiro à luz da árvore. – E depois de fazer uma pausa: – Mas não me diga que esteve aqui à espera, no escuro, só para recomeçar a nossa discussão.
– Não! – gritou Gregory numa voz que se ouviu em toda a rua. – Não estou aqui para recomeçar a discussão, mas sim para a acabar de uma vez para sempre.
Fez-se de novo silêncio, e Syme, que continuava a não perceber nada do que se passava, esperou, instintivamente, por qualquer coisa de sério.
Gregory começou, em voz pausada e com um sorriso desconcertante:
– Sr. Syme – disse –, o senhor fez esta noite uma coisa muito extraordinária. Fez o que nenhum outro homem tinha, até hoje, conseguido.
– Deveras?
– Quer dizer, já houve alguém que o conseguiu (se bem me lembro), o capitão de um navio em Southend. O senhor irritou-me.
– Lamento muito – retorquiu Syme gravemente.
– Receio que a minha ira e o seu insulto sejam demasiado graves para se poderem apagar com desculpas. Nem com um duelo, nem mesmo que eu o matasse. Mas há uma forma de apagar o insulto, e é essa que escolho. Vou provar, possivelmente com o sacrifício da minha vida e da minha honra, que se enganou no que disse.
– Mas que disse eu?
– Que o meu anarquismo não é sério.
– Há graus de seriedade – replicou Syme. – Nunca duvidei de que fosse absolutamente sincero no sentido de ter pensado que valia a pena dizer o que disse, de ter pensado que um paradoxo pudesse despertar os homens para uma verdade abandonada.
Gregory fitou-o dolorosamente.
– E é apenas nesse sentido que me julga sério? Pensa que sou um flâneur, que por vezes diz uma verdade. Não me julga sério num sentido mais profundo, mais violento?
Syme bateu de rijo com a bengala nas pedras da rua.
– Sério! – gritou. – Meu Deus! Será séria esta rua? Serão sérias estas malditas lanternas chinesas? Será séria toda esta bambochata? Chega-se aqui, diz-se uma porção de baboseiras e também coisas acertadas, à mistura, mas eu teria em muito pouca conta quem não tivesse na vida nada mais sério do que todo este paleio, alguma coisa mais séria, seja religião ou apenas bebedeira.
– Muito bem – disse Gregory, num tom misterioso –, vai ver coisa mais séria do que religião ou bebedeira.
Syme ficou à espera, com o seu ar habitual de complacência, que Gregory recomeçasse.
– Falou mesmo agora em religião. Na verdade tem alguma?
– Oh! – exclamou Syme, sorrindo abertamente. – Nós agora somos todos católicos.
– Então posso pedir-lhe que jure, por quaisquer deuses ou antas da sua religião, que não revelará a ninguém, e especialmente à Polícia, o que lhe vou dizer. Jurará? Se fizer essa terrível abnegação, se consentir em mortificar a alma com um voto que nunca deveria ter feito e com o conhecimento daquilo em que nem deveria ter sonhado, prometo-lhe em troca...
– Que me promete em troca?
– Prometo-lhe uma noite muito divertida.
Syme tirou subitamente o chapéu.
– A sua oferta é demasiado idiota para ser rejeitada. Você disse que um poeta é sempre um anarquista. Não concordo; mas espero ao menos que seja sempre um desportista. Permita-me agora jurar-lhe aqui como cristão e prometer-lhe, como bom camarada e irmão de arte, que não relatarei à Polícia nada, seja o que for. E agora, de que se trata?
– Acho melhor – disse Gregory placidamente – tomarmos uma carruagem.
Soltou dois assobios estridentes e apareceu, aos solavancos, uma carruagem, em que os dois entraram silenciosamente. Gregory deu a morada de uma taberna obscura na margem do rio, junto a Chiswick. A carruagem partiu, e aqueles dois entes fantásticos deixaram a sua cidade fantástica.
CAPÍTULO II
O SEGREDO DE GABRIEL SYME
A carruagem parou defronte de uma cervejaria, muito suja e suspeita. Gregory fez entrar rapidamente o companheiro. Sentaram-se a uma mesa de madeira, cheia de nódoas e com uma perna partida, numa espécie de salão-bar abafado e sombrio. O cubículo era tão pequeno e escuro que, do criado que os atendeu, pouco mais se distinguia do que um vulto gordo e barbado.
– Vai uma ceiazinha? – perguntou Gregory amavelmente. – O patê de foie-gras não é grande coisa aqui, mas aconselho a caça.
Syme ficou impávido, julgando que o outro gracejava. Respondeu, aceitando o jogo, com indiferença polida.
– Traga-me maionese de lagosta.
Com espanto indescritível, o criado apenas disse: «Vem já», e afastou-se, com toda a aparência de a ir buscar.
– E quanto a bebidas? – recomeçou Gregory, no mesmo tom de cuidado. – Eu já jantei, por isso tomo só um crème de menthe. Mas o champanhe da casa é de confiança. Comece ao menos por meia garrafa de Pommery.
– Muito obrigado! – disse o impávido Syme. – Você é muito amável.
Seguiram-se tentativas de conversa, um tanto desorganizadas, que o aparecimento da lagosta cortou, como um raio. Syme provou-a, achou-a óptima, e começou a comer avidamente.
– Perdoe-me que esteja a apreciar a comida com tão pouca discrição – disse, sorrindo, a Gregory. – Poucas vezes tenho a sorte de ter sonhos destes. Nunca me aconteceu um pesadelo transformar-se numa lagosta; em regra sucede o contrário.
– Posso garantir-lhe que não sonha. Pelo contrário, aproxima-se do momento mais sensacional da sua vida. Aí vem o seu champanhe. Concordo que há uma leve desproporção, digamos assim, entre o interior deste esplêndido hotel e o seu exterior, simples e sem pretensões. Mas tudo isto representa a nossa modéstia, somos os homens mais modestos que algum dia vieram ao mundo.
– Nós, quem? – perguntou Syme, esvaziando a taça de champanhe.
– É muito simples, nós, os anarquistas sinceros, em quem você não acredita.
– Oh! Tratam-se bem no que respeita a bebida.
– De facto, somos sérios em tudo – disse Gregory e, depois de uma pausa, acrescentou: – Se daqui a pouco a mesa começar a andar à roda, não atribua isso ao gasto que fez de champanhe, não quero que se julgue mal.
– Pois bem, se não estou bêbado, estou doido – retorquiu Syme, perfeitamente à vontade –, mas espero que, em qualquer dos casos, me saiba portar como um gentleman. Posso fumar?
– Pois não? – disse Gregory, puxando da charuteira. – Experimente um dos meus.
Syme tirou um, cortou-lhe a ponta com um corta-charutos que trazia na algibeira do colete, pô-lo na boca, acendeu-o e soprou uma grande fumaça. Abona muito em seu favor o ter efectuado todas estas operações com a máxima compostura, pois, momentos antes de as começar, a mesa a que estava sentado começara a girar, primeiro devagar, depois rapidamente, como numa cena mágica.
– Não se preocupe – disse Gregory –, é uma espécie de parafuso.
– Deveras, uma espécie de parafuso?! – comentou Syme calmamente. – Que simplicidade!
O fumo do charuto, que pairava no quarto em espirais caprichosas, subiu rapidamente, como o da chaminé de uma fábrica, e ambos, com cadeiras e mesa, mergulharam através do sobrado, como se o chão os tivesse engolido. Desceram aos solavancos uma espécie de chaminé, com a rapidez de um elevador desarvorado, e chegaram ao fundo com um baque brusco. Mas quando Gregory abriu uma porta e deixou entrar uma luz vermelha, subterrânea, Syme continuava a fumar, de perna traçada, e sem que um cabelo lhe tivesse bulido.
Gregory conduziu-o através de um corredor baixo, ao fundo do qual estava a luz vermelha. Era uma enorme lanterna encarnada, quase tão grande como um fogão, suspensa sobre uma pequena e pesada porta de ferro, como uma espécie de escotilha, a que Gregory bateu cinco vezes. Uma voz pesada, com sotaque estrangeiro, perguntou quem era, ao que ele deu a surpreendente resposta: «Mr. Joseph Chamberlain.» Os pesados gonzos começaram a mover-se; era, sem dúvida, uma senha.
Para lá da porta, o corredor brilhava como se estivesse forrado de aço. Vendo melhor, Syme reparou que o brilho provinha de filas e filas de espingardas e revólveres, arrumados ou ensarilhados, muito juntos.
– Peço-lhe que me perdoe todas estas formalidade – disse Gregory. – Aqui temos de ser muito severos.
– Por favor, não peça desculpa, conheço o seu amor à lei e à ordem – observou Syme; e penetrou no corredor forrado de armas de aço. Ao atravessar aquela brilhante rua de morte, com o seu cabelo louro e comprido e o fraque ajanotado, a sua figura tinha um ar bastante amaneirado e frágil.
Percorreram vários corredores semelhantes e chegaram por fim a uma estranha câmara de aço, com paredes curvas, quase esférica, mas que parecia, com as suas filas de bancos, um anfiteatro científico. Neste quarto não havia espingardas nem pistolas, mas pendiam das paredes objectos ainda mais terríveis e duvidosos, que pareciam bolbos de plantas de ferro ou grandes ovos metálicos. Eram bombas, e o próprio quarto parecia o interior de uma bomba. Syme apagou o charuto de encontro à parede e entrou.
– E agora, meu caro Syme – pronunciou Gregory, atirando-se expansivamente para um banco sob a maior das bombas –, agora que estamos confortavelmente instalados, vamos falar a sério. Não há palavras humanas que lhe possam dar uma ideia da razão por que o trouxe aqui. Foi uma dessas emoções perfeitamente arbitrárias, como a de saltarmos de um penhasco ou apaixonarmo-nos. Basta dizer que você foi inconcebivelmente irritante e, faça-se-lhe essa justiça, continua a sê-lo. Eu era capaz de quebrar vinte juras só pelo prazer de o rebaixar. A maneira que você tem de acender um charuto faria um padre trair o segredo da confissão. Pois bem, disse-me que estava convencido de que eu não era um anarquista a sério. Este lugar parece-lhe sério?
– Parece-me que, com toda a sua alegoria, tem uma moralidade – concordou Syme. – Mas permite-me que lhe faça duas perguntas? Não deve recear dar-me informações porque, se bem me lembro, você, muito ajuizadamente, extorquiu-me a promessa de nada dizer à Polícia, e esteja certo de que a cumprirei. É, pois, a mera curiosidade que me leva a fazer estas perguntas. Em primeiro lugar, para que é realmente tudo isto? Querem abolir o Governo?
– Queremos abolir Deus! – pronunciou Gregory, abrindo uns olhos de fanático. – Não queremos apenas derrubar alguns despotismos e regulamentos policiais; essa espécie de anarquistas existe de facto, mas não passa de um ramo do não conformismo. Nós cavamos mais fundo e queremos fazê-lo ir pelos ares mais alto. Negamos todas essas distinções convencionais entre vício e virtude, honra e traição, em que os simples rebeldes se baseavam. Os sentimentalistas tolos da Revolução Francesa falavam nos Direitos do Homem. Nós odiamos o Direito do mesmo modo que o Erro. Acabámos com o Direito e o Erro.
– E espero que também com o Direito e o Esquerdo. Fazem-me muita confusão.
– Falou numa segunda pergunta – disse Gregory asperamente.
– Com todo o prazer – recomeçou Syme. – Em todos os seus actos presentes e no ambiente que o circunda, nota-se uma tentativa científica de dissimulação. Tive uma tia que morava por cima de uma loja, mas é a primeira vez que encontro gente que goste de viver por baixo de uma taberna. Têm uma pesada porta de ferro, que não podem transpor sem a humilhação de se intitularem Mr. Chamberlain, cercam-se de instrumentos de aço que tornam o sítio, permita-me o termo, mais imponente do que familiar. Pergunto porque é que, depois de todo este trabalho em se barricarem nas entranhas da terra, você exibe o seu segredo, falando em anarquismo a toda a mulher tola de Saffron Park?
Gregory sorriu.
– A resposta é fácil. Disse-lhe que era um anarquista sincero, e você não acreditou; ora eles também não. A não ser que os trouxesse a esta sala infernal, não acreditariam.
Syme, que fumava pensativo, olhou-o com interesse. Gregory prosseguiu:
– A história deste caso talvez o divirta. Quando me tornei anarquista, tentei toda a espécie de disfarces respeitáveis. Primeiro vesti-me de bispo. Tinha lido, nos nossos panfletos Superstição, eis o Vampiro e Padres de Rapina, tudo o possível acerca de bispos. Desses escritos concluí que eles eram uns velhos estranhos e terríveis que ocultavam à humanidade um segredo cruel. Fui mal informado. Quando pela primeira vez me apresentei num salão com as vestes episcopais e clamei: «Humilha-te! Humilha-te, presunçosa razão humana!» descobriram logo que eu não era bispo. Apanharam-me. Depois, tentei passar por milionário, mas defendia o capital com tanta inteligência que qualquer idiota via logo que eu era pobre. Em seguida, experimentei ser major. Ora, eu sou um humanitário, mas tenho, parece-me, suficiente largueza de espírito para compreender aqueles que, como Nietzsche, admiram a violência – a louca e orgulhosa guerra da Natureza, e tudo o mais, compreende. Tomei a sério o major, desembainhava a espada e agitava-a constantemente, gritando, distraído, «Sangue!», como quem pedia vinho; dizia muitas vezes: «Os fracos devem sucumbir, é a lei!» Pois bem, parece que os majores não fazem nada disto. Apanharam-me de novo. Por fim, desesperado, fui ter com o presidente do Conselho Central Anarquista, que é o maior homem da Europa.
– Como se chama?
– Você não o conhece. Nisto está a sua grandeza. César e Napoleão empregaram todo o seu génio em se tornarem conhecidos, e conseguiram-no. Ele emprega todo o seu génio em passar despercebido, e também o consegue. Mas basta estar cinco minutos com ele para nos convencermos de que, nas suas mãos, César e Napoleão não passariam de duas crianças.
Calou-se por um momento, e até empalideceu, depois continuou:
– Um conselho dado por ele é sempre tão sensacional como um epigrama e no entanto tão prático como o Banco de Inglaterra. Eu disse-lhe: «Que disfarce me pode ocultar do mundo? Que posso encontrar mais respeitável do que bispos e majores?» Fitou-me, com o seu enorme e indecifrável rosto: «Quer um disfarce seguro, não é verdade? Uma máscara que o faça parecer inofensivo, um fato sob o qual nunca ninguém procuraria uma bomba?» Fiz que sim com a cabeça. Ergueu subitamente a sua voz de leão: «Pois bem, seu idiota, vista-se de anarquista!», gritou, de tal maneira que a casa tremeu. E virou-me as costas largas sem mais palavra. Segui o conselho e nunca me arrependi. Dia e noite pregava sangue e atentados àquelas mulheres, e elas, benza-as Deus, deixavam-me empurrar os carrinhos das crianças.
Nos grandes olhos azuis de Syme notava-se um certo respeito, e disse:
– Levou-me à certa. É de facto um embuste engenhoso. – Depois de uma pausa, acrescentou: – Como chamam a esse vosso tremendo presidente?
– Em geral, chamamos-lhe Domingo – retorquiu Gregory com simplicidade. – O Conselho Central Anarquista compõe-se de sete membros, que tomam os nomes dos dias da semana. Ele é Domingo, alguns admiradores chamam-lhe Domingo Sangrento. É curioso que você falasse nisso, porque nesta mesma noite em que aqui veio parar (permita-me a expressão), a nossa secção de Londres, que se reúne neste quarto, tem de eleger o seu delegado para preencher uma vaga no Conselho. O homem que ultimamente ocupou, com zelo e aplauso geral, o lugar de Quinta-Feira morreu subitamente e, em consequência disso, convocámos uma reunião para esta noite a fim de eleger o sucessor.
Levantou-se e começou a passear, sorrindo com ar embaraçado.
– Oiça, Syme, não sei porquê, sinto que você é como se fosse a minha mãe, sinto que lhe posso fazer todas as confidências, visto que me prometeu não dizer nada a ninguém, e de facto vou-lhe confiar uma coisa que não seria capaz de dizer aos anarquistas que dentro de uns dez minutos entrarão aqui. É claro que haverá uma votação, mas não me importo de lhe dizer que o resultado já é praticamente conhecido. – Baixou os olhos por um momento, com modéstia, e prosseguiu: – É coisa quase assente que eu serei Quinta-Feira.
– As minhas felicitações, meu caro amigo – disse Syme calorosamente. – Espera-o uma brilhante carreira.
Gregory sorriu, enleado, e continuou a passear e a falar rapidamente.
– Para dizer a verdade, está tudo preparado para me eleger e a cerimónia deve ser o mais curta possível.
Syme aproximou-se da mesa e viu que sobre ela se encontravam uma bengala, que depois verificou ser das de estoque, um grande revólver Colt, um pacote de sandes e uma formidável garrafa de brandy. Junto à mesa, sobre uma cadeira, estava uma pesada capa.
Gregory continuou a falar com grande animação:
– É apenas acabar este simulacro de eleição, depois pego nesta capa e na bengala, meto as outras coisas na algibeira, saio por uma porta que existe nesta caverna e que vai dar ao rio, onde já está uma lancha a vapor à minha espera, e depois... oh, depois, a louca alegria de ser Quinta-Feira! – e dizendo isto apertava as mãos uma na outra.
Syme, que se sentara mais uma vez com a sua habitual languidez insolente, ergueu-se com uma hesitação que não lhe era vulgar.
– Porque será que o acho um tipo bastante fixe? Porque será, Gregory, que gosto deveras de si? – Fez uma pequena pausa e acrescentou, com um ar de curiosidade atrevida. – Será por você ser um asno tão grande?
Calou-se de novo, pensativo, e depois exclamou:
– Diabos levem tudo isto! É a situação mais engraçada em que me tenho encontrado, e vou proceder de acordo com ela. Gregory, antes de aqui entrar fiz-lhe uma promessa, que não quebrarei nem que me torturem. Será você capaz de, para minha segurança, me fazer um juramento semelhante?
Gregory ficou admirado.
– Um juramento?
– Sim – confirmou Syme, muito sério. – Um juramento. Eu jurei perante Deus não revelar o seu segredo à Polícia; será você capaz de jurar, pela Humanidade, ou lá pelas coisas em que acredita, não revelar o meu segredo aos anarquistas?
– O seu segredo? Você tem um segredo?
– Tenho, sim. – E, após uma pausa: – Jura?
Gregory encarou-o por momentos, depois disse abruptamente:
– Você por certo me enfeitiçou, o caso é que sinto uma grande curiosidade por si. Pois bem, juro não dizer aos anarquistas nada a seu respeito, mas avie-se, porque eles chegarão dentro de momentos.
Syme levantou-se e enfiou as mãos brancas e comprida nas profundas algibeiras das calças cinzentas. Quase ao mesmo tempo, cinco pancadas na porta exterior anunciaram a chegada do primeiro conspirador.
– Pois bem – pronunciou Syme vagarosamente –, a maneira mais rápida de lhe dizer a verdade parece-me que é declarar-lhe que o seu expediente de se disfarçar de poeta errante não é só conhecido de si ou do seu presidente. Há muito que usamos essa manha na Scotland Yard.
Gregory tentou erguer-se de um salto, mas por três vezes oscilou.
– Que diz? – perguntou, numa voz que não era humana.
Syme pronunciou com simplicidade:
– Sim, é verdade. Sou um agente da Polícia. Mas parece-me que oiço os seus amigos chegarem.
À porta murmuraram «Mr. Joseph Chamberlain». Repetiu-se duas, três, trinta vezes, e sentia-se a multidão de Josephs Chamberlains (a visão é solene) a avançar pelo corredor.
CAPÍTULO III
O HOMEM QUE ERA QUINTA-FEIRA
Antes que aparecesse à porta algum dos recém-chegados, já Gregory se refizera da surpresa, saltara para junto da mesa, rugindo como um leão, pegara no revólver Colt e apontara-o a Syme.
Este não pestanejou, mas ergueu a mão, pálido e cortês.
– Não seja idiota – disse, com a dignidade efeminada de um cura. – Não vê que não vale a pena, não vê que estamos ambos a bordo do mesmo barco, sim, e na verdade muito enjoados?
Gregory estava incapaz de falar e de disparar também.
– Não vê que demos ambos xeque-mate um ao outro? – exclamou Syme. – Eu não posso dizer à Polícia que você é anarquista, você não pode dizer aos anarquistas que eu sou polícia. Eu apenas posso vigiá-lo, sabendo quem você é, você apenas me pode vigiar, sabendo quem eu sou. Resumindo, é um duelo singular e intelectual, a minha inteligência contra a sua. Eu sou um agente privado do auxílio da Polícia; você, meu pobre amigo, um anarquista privado de lei e organização, tão necessárias à anarquia. Há apenas uma diferença, e essa em seu favor: você não está cercado por polícias curiosos. Eu não o posso denunciar, mas posso denunciar-me. Verá como o farei com elegância.
Gregory baixou vagarosamente a pistola, continuando a olhar para Syme como se este fosse um monstro marinho.
– Não acredito na imortalidade – disse por fim –, mas, se depois de tudo isto você faltasse à sua palavra, Deus faria um inferno só para si, onde você rechinasse para sempre.
– Não faltarei à minha palavra – prometeu Syme severamente. – Nem você faltará à sua. Eis os seus amigos.
A massa dos anarquistas entrou no quarto, pesadamente, com um andar oscilante e um tanto arrastado, mas um homenzinho de óculos e barba preta, um homem no género do Sr. Tim Healy, saiu do grupo e avançou, com uns papéis na mão.
– Camarada Gregory – disse –, suponho que este indivíduo é um delegado?
Gregory, apanhado de surpresa, baixou os olhos e balbuciou o nome de Syme, mas este replicou prontamente:
– Vejo com satisfação que a vossa porta está tão bem guardada que é difícil encontrar-se aqui alguém que não seja um delegado.
O homenzinho de barba preta ainda mostrava, no entanto, um ricto de certa suspeita.
– Que ramo representa? – perguntou asperamente.
– Não lhe chamarei bem um ramo – respondeu Syme a rir –, mas sim antes uma raiz.
– Que quer dizer?
Syme continuou com calma:
– Na verdade, sou um sabatariano. Vim aqui ver se cumprem escrupulosamente as ordens de Domingo.
O homenzinho deixou cair um dos papéis, e pela face de todos perpassou um frémito de medo. Era manifesto que o terrível presidente, conhecido por Domingo, às vezes enviava embaixadores extraordinários a assembleias locais como aquela.
– Bem, camarada – disse o homem dos papéis, depois de uma pausa –, acho que o melhor é dar-lhe um lugar na assembleia.
– Se quer o meu conselho de amigo – retorquiu Syme, com benevolência severa –, acho também ser isso o melhor que tem a fazer.
Quando Gregory viu acabar este perigoso diálogo, com súbita segurança para o seu rival, levantou-se e começou a passear de um lado para o outro, imerso em pensamentos dolorosos. Estava, de facto, numa situação de complicada diplomacia. Era evidente que Syme, com o seu atrevimento inesperado, se livraria de todos os dilemas meramente acidentais. Pouco se poderia esperar disso. Ele próprio não podia denunciá-lo, em parte por uma questão de honra, em parte porque, se o fizesse e por qualquer razão não o conseguisse destruir, o Syme que escapasse seria um Syme livre de todo o compromisso de segredo, um Syme que se dirigiria simplesmente à esquadra mais próxima. E, no fim de contas, tratava-se apenas da discussão de uma noite e de um detective que a conhecia.
Nessa noite revelaria o mínimo dos seus planos, deixaria Syme ir e correria o risco.
Dirigiu-se para o grupo de anarquistas, que já se estava espalhando pelos bancos.
– Acho que é tempo de começarmos, a lancha a vapor já está à espera no rio. Proponho que o camarada Buttons assuma a presidência.
Ergueram-se mãos, aprovando a proposta, e o homenzinho dos papéis tomou a cadeira presidencial.
– Camaradas – começou ele, em tom seco como um tiro de pistola –, a nossa reunião de hoje é importante, se bem que não necessite de ser demorada. Este núcleo tem tido sempre a honra de eleger Quinta-Feira para o Conselho Central Europeu, e já elegeu muitos e magníficos. Todos lamentam a triste morte do heróico obreiro que até à semana passada ocupou o posto; os seus serviços à causa foram, como sabem, notáveis. Organizou o grande atentado dinamitista de Brighton, que, se as circunstâncias tivessem sido mais felizes, teria matado todos os que estavam no cais. Como também sabem, a sua morte foi uma prova de abnegação tão grande como a sua vida, pois morreu devido à sua confiança numa mistura higiénica de giz e água que tomou em substituição do leite, pois considerava esta bebida bárbara, por ser uma crueldade para a vaca. Sempre o revoltou tudo o que fosse crueldade ou que com ela se parecesse. Mas não foi para proclamar as suas virtudes que nos reunimos, e sim para realizar uma tarefa mais árdua. É difícil apreciar devidamente as suas qualidades, mas mais difícil ainda substituí-las. É a vós, camaradas, que esta noite incumbe escolher, de entre os presentes, aquele que será Quinta-Feira. Se algum camarada sugerir um nome, pô-lo-ei à votação, senão apenas poderei dizer a mim mesmo que o querido dinamitista arrancado ao nosso convívio levou para abismos desconhecidos o último segredo da sua virtude e da sua inocência.
Houve um murmúrio de aprovação, quase imperceptível, como às vezes sucede na Igreja. Em seguida, um velho robusto, de barba branca, comprida e venerável, talvez o único verdadeiro operário presente, levantou-se e disse:
– Proponho que seja eleito Quinta-Feira o camarada Gregory – e tornou a sentar-se.
– Há alguém que não aprove? – perguntou o presidente.
Um homenzinho de casaco de veludo e barba pontiaguda sugeriu:
– Antes de pôr à votação este assunto, peço ao camarada Gregory que faça uma declaração.
Gregory levantou-se, entre grande ruído de vozes. Tinha a cara tão pálida que, por contraste, a sua estranha cabeleira ruiva parecia quase escarlate, mas sorria e estava perfeitamente à vontade. Já se resolvera, e via diante de si, como uma estrada lisa, a política a seguir. O melhor jogo seria fazer um discurso brando e ambíguo, que desse ao detective a impressão de que a comunidade anarquista era, no fim de contas, uma coisa muito moderada. Acreditava no seu trabalho literário, na sua capacidade para sugerir tons apropriados e escolher palavras perfeitas. Pensou que, com cuidado, conseguiria dar, apesar de todos os que o rodeavam, uma ideia subtil e delicadamente falsa da instituição. Syme já pensara que os anarquistas, apesar de toda a sua bravata, estavam a armar aos pássaros. Seria ele capaz de, na hora do perigo, fazer Syme pensar de novo o mesmo?
– Camaradas – principiou Gregory, em voz baixa mas penetrante –, não tenho necessidade de lhes dizer qual é a minha política, pois é a vossa também. A nossa crença tem sido caluniada, tem sido desfigurada, tem sido completamente confundida e encoberta, mas nunca foi alterada. Esses que falam do anarquismo e dos seus perigos vão buscar as suas informações a toda a parte, excepto a nós, excepto à origem. Conhecem os anarquistas através de novelas baratas, conhecem os anarquistas através de jornais de comerciantes, conhecem os anarquistas através do Ally Sloper Hall-Holiday e do Sporting Times. Nunca conheceram os anarquistas através dos anarquistas. Não têm possibilidades de negar as calúnias monumentais que de uma ponta à outra da Europa se amontoaram sobre as nossas cabeças. Quem diz que somos pragas vivas nunca ouviu a nossa resposta. Sei que a não ouvirá esta noite, mesmo que eu grite até fender o tecto. Porque aos perseguidos só é permitido reunirem-se debaixo do solo, como os cristãos nas catacumbas. Mas, se eu perguntasse a alguém que sempre nos tivesse compreendido mal, e que, por um acaso inacreditável, se encontrasse aqui esta noite: «Quando esses cristãos se reuniam nas catacumbas, qual era a sua reputação nas ruas que passavam por cima? Que histórias contavam uns aos outros os Romanos educados acerca das suas actividades?» Suponha (é o que lhe diria), suponha que estamos apenas repetindo esse ainda misterioso paradoxo da história; suponha que parecemos tão inocentes como eles, suponha que parecemos tão loucos como os cristãos porque de facto somos tão brandos como eles.
As aprovações que tinham saudado as primeiras frases foram diminuindo de intensidade e as últimas palavras fizeram-nas acabar de todo. O silêncio súbito foi quebrado, em voz de falsete, pelo homem do casaco de veludo.
– Eu não sou brando!
Gregory recomeçou:
– O camarada Witherspoon diz que não é brando. Como se conhece mal! A sua fala é de facto extravagante, o aspecto feroz e até, para gostos vulgares, pouco atraente. Só um olhar amigo, tão sensível e penetrante como o meu, pode ver que no fundo dele existe uma sólida brandura. Tão fundo que ele não consegue ver. Mas nós somos, repito, como os cristãos primitivos, a diferença é que chegámos tarde de mais. Somos simples como eles, vejam o camarada Witherspoon; somos modestos como ele, olhem para mim; somos misericordiosos.
– Nunca, nunca! – gritou Witherspoon, o do casaco de veludo.
– Digo que somos misericordiosos – repetiu Gregory furioso – como o eram os cristãos primitivos, e no entanto isto não evitava que fossem acusados de comer carne humana. Nós não comemos carne humana.
– É uma vergonha! – gritou Witherspoon. – Porque não?
– O camarada Witherspoon deseja saber – continuou Gregory, com ironia febril – qual a razão por que ninguém o come (risos). Pelo menos na nossa sociedade, que o estima sinceramente, que é baseada no amor...
– Nunca, nunca, abaixo o amor!
– ...que é baseada no amor – insistiu Gregory, rangendo os dentes –, não haverá dificuldade em escolher os fins que, em globo, procuramos atingir, ou que, pelo menos, procurarei atingir se for nomeado para a representar. Soberbamente indiferentes às calúnias que nos pintam como assassinos e inimigos da sociedade, procuraremos atingir, com coragem moral e persuasão intelectual, os ideais eternos da fraternidade e da simplicidade.
Gregory voltou a sentar-se e passou a mão pela fronte. Fez-se um silêncio súbito e embaraçoso, mas o presidente levantou-se como um autómato e disse em voz insípida:
– Alguém se opõe à eleição do camarada Gregory?
A assembleia parecia vaga e subconscientemente desiludida e o camarada Witherspoon mexia-se inquieto na cadeira e murmurava para dentro da barba espessa. A moção teria sido aprovada, por mera rotina, mas, quando o presidente ia abrir a boca para a propor, Syme levantou-se e disse em voz baixa e calma:
– Oponho-me eu, senhor presidente.
O que produz maior efeito em oratória é uma súbita mudança de tom, e Gabriel Syme percebia sem dúvida de oratória. Tendo pronunciado estas primeiras palavras em tom moderado e com simplicidade breve, fez ecoar as seguintes, como se uma das espingardas se tivesse disparado.
– Camaradas! – gritou, em tom que fez todos levantarem-se das cadeiras. – Foi para isto que aqui viemos? Viemos escondidos como ratos, para ouvir um palavreado destes? Podíamos ouvi-lo a comer bolos numa festa da escola dominical. É para evitar que alguém oiça o camarada Gregory dizer-nos «sejam bons e serão felizes», «a melhor política é a honestidade», «a virtude tem em si a própria recompensa», que forraram estas paredes com armas e barram aquela porta com a morte? Não há uma palavra no discurso do camarada Gregory que um cura não ouvisse com prazer (apoiado, apoiado). Mas eu não sou um cura (muitas palmas) e não o ouvi com agrado (novos aplausos). O homem que serve para ser um bom cura não serve para ser um Quinta-Feira decidido, tenaz e eficiente (muito bem, muito bem). O camarada Gregory disse-nos, em termos humildes de mais, que não éramos inimigos da sociedade. Mas eu digo que o somos, e tanto pior para a sociedade. Somos seus inimigos, porque a sociedade é inimiga da humanidade, a sua mais velha e cruel inimiga (apoiados). O camarada Gregory disse-nos também, com ar de desculpa, que não somos assassinos. Nisso concordo com ele. Não somos assassinos, somos executores (aplausos).
Desde que Syme se levantara, Gregory ficou a olhar para ele, parvo de espanto. Aproveitando a pausa, moveu os lábios de cera, para dizer, distinta mas automaticamente e sem vida:
– Seu hipócrita do diabo!
Syme, com os seus olhos azuis pálidos, fitou direito os terríveis olhos do outro, e disse:
– O camarada Gregory acusa-me de hipocrisia, mas sabe tão bem como eu que estou a satisfazer todos os meus compromissos e cumprindo apenas o meu dever. Não estou com falsas falinhas mansas, nem o pretendo. Digo que o camarada Gregory, apesar de todas as suas louváveis qualidades, não serve para Quinta-Feira e não serve precisamente por ter essas qualidades. Não queremos que o Supremo Conselho da Anarquia fique empestado com a estúpida misericórdia (apoiado). Não é tempo para cortesias nem para modéstias. Sou contra o camarada Gregory como sou contra todos o Governos da Europa, porque o anarquista que se entrega ao seu ideal esquece tanto a modéstia como o orgulho (aplausos). Não sou um homem, sou uma causa (aplausos repetidos). Sou contra o camarada Gregory tão impessoal e calmamente como se fosse àquele armário, ali na parede, escolher uma pistola em vez de outra, e prefiro propor-me a ser eleito do que ter o camarada Gregory e os seus métodos açucarados no Supremo Conselho.
A última frase foi abafada por uma revoada ensurdecedora de palmas. As caras que, à medida que a tirada se ia tornando cada vez mais intransigente, se tornavam mais e mais ferozes estavam agora distendidas em sorrisos de expectativa ou fendidas por gritos de satisfação. Quando anunciou que estava pronto a propor-se para o posto de Quinta-Feira, levantou-se um rugido de excitação e assentimento, que se tornou indomável, e ao mesmo tempo Gregory ergueu-se de um salto, espumando da boca, e gritando contra a gritaria.
– Parem, seus loucos malditos! – berrou, numa voz que lhe rasgava a garganta. – Parem, seus...
Mas, mais alto que os gritos de Gregory, mais alto do que o berreiro que ia no quarto, ouviu-se a voz de Syme, falando ainda em tom de trovão sem piedade:
– Não vou para o Conselho rebater a calúnia que nos chama assassinos, vou merecê-la (grandes e prolongados aplausos). Ao padre que diz que estes homens são inimigos da lei, ao gordo parlamentar que diz que são inimigos da ordem e da moral públicas, responderei: sois falsos reis mas profetas verdadeiros, vim para vos destruir e para cumprir as vossas profecias.
O rumor tinha-se atenuado a pouco e pouco, mas ainda não acabara e já Witherspoon se erguera, com a barba e a cabeleira desgrenhadas, e dissera:
– Proponho, em aditamento, que o camarada Syme seja eleito.
– Acabem com isto, já lhes disse – gritou Gregory, frenético. – Acabem, é tudo...
A voz do presidente, em tom frio, cortou-lhe o discurso:
– Alguém aprova o aditamento?
Viu-se levantar, lentamente, no último banco, um homem alto, cansado, com olhos melancólico e pêra à americana. Já há algum tempo que Gregory estava a berrar, agora houve uma mudança no tom da sua voz mais chocante que qualquer grito.
– Vou acabar com isto! – gritou em voz pesada como pedra. – Este homem não pode ser eleito, é um...
– Então – disse Syme, sem pestanejar –, é o quê?
Gregory engoliu em seco duas vezes, o sangue refluiu lentamente à sua face cadavérica, e disse:
– É uma pessoa sem nenhuma experiência do nosso trabalho – e sentou-se pesadamente.
Antes que acabasse de o fazer, já o homem comprido e esgalgado, o da barba à americana, se levantara de novo e repetia com agudo sotaque ianque:
– Aprovo a eleição do camarada Syme.
– O aditamento será, conforme o costume, posto primeiro à votação. Propõe-se o camarada Syme.
Gregory levantou-se de novo, espumando:
– Camaradas – gritou –, eu não sou um louco.
– Oh! Oh! – fez Witherspoon.
– Não sou um louco – insistiu Gregory, com uma sinceridade tão tremenda que por momentos fez vacilar a assistência –, mas vou-lhes dar um conselho, que chamarão louco, se quiserem. Não, não é um conselho, porque vos não posso dar qualquer justificação para ele, é uma ordem. Chamem-lhe uma ordem louca, mas cumpram-na. Batam-me, mas oiçam! Matem-me, mas obedeçam! Não elejam esse homem.
A verdade, mesmo acorrentada, é tão terrível que, por um momento, a ténue e disparatada vitória de Syme oscilou como um vime.
Ma não se via isso nos seus olhos azuis. Apenas disse:
– O camarada Gregory ordena...
O encanto quebrou-se e um dos anarquistas gritou para Gregory:
– Quem julga que é? Você não é Domingo.
E outro acrescentou em voz mais pesada:
– Você nem sequer é Quinta-Feira.
– Camaradas – gritou Gregory, com uma voz de mártir que, no êxtase da dor, tivesse passado além dela –, tanto me faz que me detestem como tirano ou como escravo. Se não obedecerem à minha ordem, aceitem a minha degradação. Ajoelho aos vossos pés e imploro-vos: não elejam esse homem.
– Camarada Gregory – disse o presidente, depois de uma pausa dolorosa –, isso não é digno.
Pela primeira vez no decorrer destes acontecimentos, houve alguns segundos de silêncio autêntico. Gregory deixou-se cair na cadeira, prostrado, e o presidente repetiu, como um relógio a que se tivesse de novo dado corda:
– Propõe-se que o camarada Syme seja eleito para o lugar de Quinta-Feira no Conselho Geral.
O rumor levantou-se como o mar, os braços ergueram-se como uma floresta e três minutos depois Gabriel Syme, do Serviço Secreto da Polícia, era eleito para o lugar de Quinta-Feira no Conselho Geral dos Anarquistas Europeus.
Todos os presentes pareciam sentir a lancha à espera no rio, o estoque e o revólver à espera na mesa. Assim que a eleição findou e se tornou irrevogável e que Syme recebeu o documento que provava a sua nomeação, todos se levantaram e os grupos incendiados deslocaram-se e misturaram-se. Syme encontrou-se, não se sabe bem como, face a face com Gregory, que ainda o fitava atordoado de raiva. Durante longos minutos mantiveram-se em silêncio.
– Você é um diabo – proferiu Gregory por fim.
– E você um cavalheiro – replicou Syme gravemente.
– Foi você que me meteu nesta ratoeira – disse Gregory, tremendo da cabeça aos pés.
– Não diga tolices. Se vamos a isso, foi você que me meteu nesta espécie de parlamento diabólico. Foi você que primeiro me fez jurar. Talvez ambos estejamos a fazer o que pensamos que é bem. Mas o que ambos pensamos que é bem é tão diferente que não podemos fazer qualquer concessão um ao outro. Entre nós não há relação possível senão na morte e na honra – e, dizendo isto, pôs aos ombros a grande capa e pegou na bengala que estava em cima da mesa.
Buttons aproximou-se, apressado, a dizer:
– O barco está pronto. Faça o favor de me seguir.
Com um gesto que revelava o caixeiro, conduziu Syme através dum corredor, curto e forrado de ferro, e o ainda angustiado Gregory seguiu-os de perto. Ao fundo do corredor havia uma porta, que Buttons abriu com decisão, e ficou subitamente à vista o quadro azul e prata do rio iluminado pelo luar, que parecia um cenário. Junto à abertura estava uma lancha a vapor, minúscula e escura, que parecia um dragão-menino, com um olho vermelho.
Ao subir para bordo, Gabriel Syme virou-se para o embasbacado Gregory:
– Você cumpriu a sua palavra. É um homem honrado e eu agradeço-lhe. Cumpriu-a até o mais pequeno pormenor. Houve uma coisa em especial que me prometeu logo ao princípio disto, e que de facto me proporcionou.
– Que quer dizer? – gritou o confuso Gregory. – Que lhe prometi eu?
– Uma noite muito divertida – respondeu Syme, e fez a continência militar com a bengala, enquanto o barco se afastava.
CAPÍTULO IV
A HISTÓRIA DE UM DETECTIVE
Gabriel Syme não era apenas um detective que pretendia ser poeta, era um poeta que se tornara detective. Nem tão-pouco era hipócrita o seu ódio à anarquia. Ele era daqueles que cedo na vida são levados a tomar uma atitude demasiado conservadora por causa da loucura confusa da maioria dos revolucionários. Não chegara a ela devido a uma calma tradição: a sua respeitabilidade era espontânea e súbita, uma revolta contra a revolta. Provinha de uma família de caturras, na qual os membros mais idosos tinham as ideias mais modernas. Um dos seus tios passeava sempre sem chapéu, outro fizera uma tentativa, mal sucedida, de passear com chapéu e sem mais nada. O pai cultivava a arte e a realização de si próprio, a mãe dedicava-se à simplicidade e à higiene. Daí resultou que a criança, durante os seus primeiros anos, desconheceu qualquer bebida entre os extremos do absinto e do cacau, ambas as quais detestava cordialmente. Quanto mais a mãe pregava uma abstinência ultrapuritana, mais o pai se expandia numa relaxação ultrapagã, e pela altura em que a primeira chegara ao ponto de impor o vegetarianismo, o último chegara quase a defender o canibalismo.
Gabriel, vendo-se cercado desde a infância por toda a espécie possível de revolta, tivera também de se revoltar, e seguira o único caminho livre: o do equilíbrio. Mas restava-lhe uma dose suficiente do sangue daqueles fanáticos para tornar o seu protesto em prol do senso comum demasiado feroz para ser sensato. O seu ódio à anarquia moderna fora também coroado por um acidente. Aconteceu que ia a passar na rua no momento em que se deu um atentado dinamitista. Por momentos ficara cego e surdo e, quando o fumo se dissipou, vira as janelas partidas e o rostos a sangrar.
Depois deste incidente, continuou a sua vida do costume – sossegado, cortês, bastante amável –, mas havia um sector do seu cérebro que não regulava bem. Não encarava os anarquistas como a maior parte de nós o fazemos, como um punhado de indivíduos mórbidos, que aliam a ignorância ao intelectualismo. Encarava-os como um perigo enorme e impiedoso, como uma invasão chinesa.
Despejava continuamente nos jornais, e nos seus cestos dos papéis, uma série de contos, versos e artigos violentos precavendo os homens contra este novo dilúvio de negação barbárica. Não parecia, porém, que se aproximasse do inimigo, nem tão-pouco de um modo de vida. Quando passeava ao longo do cais do Tamisa, mordendo amargamente um charuto barato e meditando sobre o avanço da Anarquia, não havia anarquista de bomba na algibeira que fosse mais selvagem ou mais solitário do que ele. De facto, imaginava sempre o Governo só e desesperado, encurralado num beco sem saída. E era demasiado quixotesco para se importar com ele se assim não fosse.
Passeava um dia no cais, sob um pôr do Sol vermelho-escuro. O rio vermelho reflectia o céu vermelho, e ambos reflectiam a sua ira. Na realidade, o céu estava tão escuro e a luz no rio relativamente tão brilhante, que a água quase parecia uma chama mais viva que o pôr do Sol que nela se espelhava. Parecia uma torrente de fogo a serpentear sob as vastas cavernas de um país subterrâneo.
Syme, naquele tempo, andava mal vestido. Usava um chapéu alto fora de moda, andava embrulhado num sobretudo preto e roto, ainda mais fora de moda, e aquele vestuário dava-lhe um aspecto de cínico de romance de Dickens ou Bulwer Lytton. A barba e o cabelo amarelado também andavam mais hirsutos e despenteados do que quando, muito mais tarde e já aparados e penteados, apareceram nos jardins de Saffron Park. Pendia-lhe dos dentes cerrados um charuto negro, esguio e comprido, comprado no Soho por dois pence, e no conjunto passava por um espécime muito satisfatório dos anarquistas a quem votara guerra santa. Foi talvez por isso que um polícia se dirigiu a ele e lhe deu as boas-tardes.
Syme, numa das suas crises de temor mórbido pela arte da humanidade, pareceu picado pela simples solidez do automático guarda, um mero vulto azulado no crepúsculo.
– Com que então boa tarde? – disse rispidamente. – Vocês seriam capazes de chamar boa-tarde ao fim do mundo. Olhe para aquele pôr do Sol vermelho de sangue e para o rio sangrento! Mesmo que se tratasse de facto de sangue humano, você continuaria na calma, à procura de um pobre inocente vagabundo a quem pudesse mandar circular. Vocês, os polícias, são cruéis para os pobres, mas, se não fosse a vossa calma, talvez me sentisse capaz de até essa crueldade perdoar.
– Se somos calmos é porque temos a calma da resistência organizada.
– Hã? – proferiu Syme, boquiaberto.
– O soldado tem de ser calmo no mais aceso da batalha. A compostura do exército é a ira da nação.
– Valha-me Deus, as Board Schools! Isto é que é a educação laica?
– Não – respondeu tristemente o polícia. – Nunca tive nenhuma dessas regalias, as Board Schools ainda não existiam no meu tempo. Receio que a educação que recebi fosse muito grosseira e antiquada.
– Onde a recebeu?
– Oh, em Harrow.
As simpatias de classe – que, apesar de todas as suas falsidades, são, em tantos homens, dos sentimentos mais reais – manifestaram-se em Syme antes que ele as pudesse refrear.
– Mas, meu Deus, homem! Você nunca devia ser polícia.
O guarda suspirou e abanou a cabeça.
– Bem sei – disse solenemente –, bem sei que não sou digno.
– Mas porque se alistou na Polícia? – inquiriu Syme, com curiosidade malcriada.
– Pela mesma razão por que você a insultou. Descobri que no serviço havia um lugar especial para aqueles cujos receios pela humanidade se relacionavam mais com as aberrações do intelecto científico do que com as erupções, normais e desculpáveis, se bem que excessivas, da vontade humana. Espero que me faça compreender.
– Se pergunta se se exprime com clareza, suponho que assim é. Mas agora, se quer dizer que se faz compreender, isso nunca. Como explica que um homem como você esteja, de capacete azul na cabeça, a falar de filosofia junto às margens do Tamisa?
– É evidente que não ouviu falar nos mais recentes métodos do nosso sistema policial, e não me admiro, pois não os revelamos às classes educadas, pois nelas se encontram a maior parte dos nossos inimigos. Mas parece-me que você atravessa o estado de espírito apropriado. Creio que está quase a unir-se a nós.
– Unir-me a quem?
– Vou-lhe dizer – respondeu o polícia com lentidão. – A situação é a seguinte: à testa de uma das nossas repartições está um dos mais célebres detectives europeus, que é há muito da opinião de que uma conspiração puramente intelectual brevemente ameaçará a própria existência da civilização. Está certo de que os mundos artísticos e científicos se uniram silenciosamente numa cruzada contra a família e contra o Estado. Em vista disto, formou um corpo especial de polícias, que são simultaneamente filósofos, e é seu dever observar o início desta conspiração, não só no sentido criminal, como também no controverso. Eu próprio sou democrático e concebo perfeitamente o que vale o homem vulgar em assuntos de valor ou virtude vulgares. Mas é óbvio que não seria conveniente empregar polícias vulgares numa investigação que é também uma caçada à heresia.
Nos olhos de Syme brilhava curiosidade simpatizante.
– Que fazem então?
– O trabalho do polícia filósofo é ao mesmo tempo mais audacioso e mais subtil que o do polícia vulgar. Este vai aos tascos prender ladrões, nós vamos aos chás de artistas descobrir pessimistas. O detective vulgar descobre, por uma agenda ou por um diário, que se cometeu um crime. Nós, num livro de sonetos, descobrimos que se vai cometer um crime. Temos de descobrir a origem desses horríveis pensamentos que empurram os homens para o fanatismo e o crime intelectual. Chegámos mesmo a tempo de evitar o atentado de Hartlepool e isso deve-se exclusivamente ao facto de o nosso Sr. Wilks (um rapazinho muito esperto) ter compreendido perfeitamente um poema.
– Quer dizer que de facto há assim hoje tanta relação entre o crime e o intelecto?
– Você não é bastante democrático, mas tinha razão quando há pouco dizia que o nosso tratamento normal do criminoso pobre é um tanto brutal. Confesso-lhe que muitas veze me aborreço com o meu ofício, quando vejo que ele é uma guerra perpétua ao ignorante e ao desesperado. Mas este nosso novo movimento é um caso muito diferente. Nós negamos a presunçosa concepção inglesa de que os criminosos perigosos são os sem educação. Lembramo-nos dos imperadores romanos, dos príncipes envenenadores do Renascimento, e dizemos que o criminoso mais perigoso é o educado. Dizemos que, presentemente, o criminoso mais perigoso é o filósofo moderno, sem o mínimo respeito pela lei. Comparados com ele, os gatunos e os bígamos são indivíduos essencialmente morais, e eu estou de alma e coração com eles. Aceitam a ideia essencial acerca do homem, mas buscam-na erradamente. Os ladrões respeitam a propriedade, apenas desejam que ela se torne sua, a fim de a poderem respeitar melhor. Mas os filósofos detestam a propriedade na sua essência, querem destruir a própria ideia de possessão pessoal. Os bígamos respeitam o casamento, caso contrário não se sujeitariam à formalidade, altamente cerimoniosa e até ritual, da bigamia. Mas os filósofos desprezam o casamento por ser casamento. Os assassinos respeitam a vida humana, somente desejam atingir neles próprios uma maior plenitude dela pelo sacrifício do que lhes parece serem vidas inferiores. Mas os filósofos odeiam a vida em si, tanto a própria como a dos outros.
Syme bateu as mãos.
– Que verdade isso é! Sentia-o desde a minha adolescência, mas nunca fui capaz de o exprimir bem. O criminoso vulgar é um homem mau, mas ao menos é, se assim se pode dizer, um homem condicionalmente bom. Segundo ele, se um único e determinado obstáculo fosse removido, digamos um tio rico, estaria pronto a aceitar o mundo tal qual ele é e a louvar a Deus. É um reformador, mas não um anarquista, quer limpar o edifício mas não destruí-lo. O filósofo maldoso não deseja alterar as coisas, mas sim aniquilá-las. Em verdade, o mundo moderno conservou todas as partes do trabalho policial que são de facto opressivas e ignominiosas: a perseguição dos pobres, a espionagem dos infortunados, e abandonou a sua obra mais digna, o castigo de poderosos traidores contra o Estado e de poderosos heresiarcas contra a Igreja. Os modernos dizem que não devemos punir os heréticos. A minha única dúvida é se teremos o direito de punir mais alguém.
– Mas isto é absurdo! – gritou o polícia, apertando as mãos uma na outra, com uma excitação invulgar em pessoa do seu físico e uniforme. – Mas isto é intolerável! Não sei o que faz, mas está decerto a desperdiçar a sua vida. Você deve ir, você vai alistar-se no nosso corpo especial contra a anarquia. Os seus exércitos estão nas nossas fronteiras, o seu golpe está pronto a ser vibrado. Um momento mais e pode perder a glória de trabalhar connosco, talvez a glória de morrer com os últimos heróis do mundo.
– É de facto uma oportunidade que se não deve perder – concordou Syme –, mas eu ainda não percebi bem. Sei tão bem como qualquer outro que o mundo moderno está cheio de homenzinhos sem lei e de movimentozinhos loucos, mas, sendo todos bestiais, têm em geral o mérito de estar em desacordo uns com os outros. Em que se baseia para dizer que eles conduzem um exército ou preparam um golpe? O que é esta anarquia?
– Não a confunda com essas ocasionais erupções dinamitistas, vindas da Rússia e da Irlanda, que são na realidade erupções de homens oprimidos, se bem que enganados. Isto é um vasto movimento filosófico composto de dois anéis, um exterior, outro interior. Pode até chamar aos do anel exterior os laicos e aos do interior os sacerdotes. Eu prefiro dizer que o anel exterior é a secção inocente, e que o anel interior é a secção supremamente culpada. O anel exterior, a grande massa dos adeptos, é apenas de anarquistas, isto é, homens que crêem ter sido a felicidade humana destruída por regras e fórmulas. Crêem que todos os males que provêm dos crimes humanos resultam do sistema que lhes chamou crimes. Não acreditam que o crime criou o castigo, mas sim que o castigo criou o crime. Crêem que um homem pode seduzir sete mulheres e conservar-se tão inocente como as flores primaveris, que se um homem roubar uma carteira se sentirá naturalmente, refinadamente bom. São estes que eu chamo a secção inocente.
– Oh! – exclamou Syme.
– Naturalmente, portanto, essa gente fala «dos bons tempos que hão-de vir», do «paraíso futuro», da «humanidade liberta das grilhetas do vício e da virtude», e assim por diante. E também assim falam os homens do círculo interior, os sacerdotes sagrados. Também às massas que aplaudem eles falam da felicidade futura e do género humano por fim libertado. Mas nas suas bocas – e o polícia baixou a voz – estas frases felizes têm um significado medonho. Eles não têm ilusões, são demasiado intelectuais para pensar que neste mundo o homem se possa libertar completamente do pecado original e da luta pela vida. O que eles querem é a morte. Quando falam no género humano por fim livre, querem dizer com isso que a humanidade se suicidará. Quando falam em paraíso sem certo nem errado, querem dizer o túmulo. Têm apenas dois objectivos: primeiro, destruir a humanidade; depois, destruírem-se a si próprios. É por isso que lançam bombas em vez de disparar pistolas. A inocente arraia-miúda fica desapontada porque a bomba não matou o rei, mas os grandes sacerdotes ficam contentes porque matou alguém.
– Como me posso alistar no vosso grupo? – perguntou Syme, entusiasmado.
– Sei de certeza que neste momento há uma vaga, e tenho a honra de merecer uma certa confiança do chefe em que lhe falei. Você devia ir vê-lo, ou antes, porque não devo dizer vê-lo, nunca ninguém o vê, devia falar-lhe.
– Pelo telefone? – perguntou Syme, interessado.
– Não, ele tem a mania de estar sempre num quarto escuro como breu. Diz que lhe torna as ideias mais luminosas. Venha daí.
Syme, um tanto deslumbrado e muito excitado, deixou-se levar até uma porta lateral da comprida fila de edifícios da Scotland Yard. Antes que soubesse o que fazia, já tinha passado pelas mãos de quatro guardas intermediários e fora introduzido num quarto, cuja escuridão abrupta o alarmou tanto como um jacto de luz. Não era como a escuridão normal, na qual se podem distinguir vagamente as coisas, era como se tivesse cegado subitamente.
– Você é o novo recruta? – perguntou uma voz grossa.
Por um instinto inexplicável, pois não se distinguia nada na escuridão, Syme compreendeu duas coisas: primeiro, que era a voz de um homem de grande estatura; segundo, que esse homem estava de costas para ele.
– Você é o novo recruta? – repetiu o chefe invisível, que parecia já estar ao corrente do que se passava. – Muito bem, está alistado.
Syme, completamente aturdido, lutou debilmente contra esta frase irrevogável:
– Não tenho experiência nenhuma – começou.
– Ninguém tem experiência da batalha do Armagedão – disse o outro.
– Mas, de facto, não sirvo...
– Tem boa vontade, e isso chega – opôs o desconhecido.
– Na verdade, não sei de profissão na qual a boa vontade seja a prova final de admissão.
– Sei eu: a profissão de mártir. Estou a condená-lo à morte. Bom dia.
E foi assim que, quando Gabriel Syme, de chapéu alto e sobretudo, ambos velhos e coçados, viu de novo a luz rubra da tarde, era já membro do Novo Corpo de Detectives, destinado a frustrar a grande conspiração.
Seguindo os conselhos do seu amigo polícia (que profissionalmente tinha tendência para o arranjo), aparou o cabelo e a barba, comprou um chapéu novo, vestiu-se com um elegante fato de Verão, azul-cinzento-claro, pôs uma flor amarela pálida na botoeira, em resumo, transformou-se naquele indivíduo janota e um tanto insuportável que Gregory encontrara nos jardinzinhos de Saffron Park. Antes de abandonar as instalações da Polícia, o seu amigo dera-lhe um pequeno cartão azul, no qual estavam escritos «A Última Cruzada» e um número, e que era a marca da sua autoridade oficial. Pô-lo cautelosamente na algibeira de cima do colete, acendeu um cigarro, e partiu a descobrir e combater o inimigo em todos os salões de Londres. Até onde a sua aventura o levou já nós vimos. Numa noite de Fevereiro, por volta da uma e meia, estava a subir o Tamisa numa pequena lancha, armado com uma bengala-estoque e um revólver, e era o legítimo Quinta-Feira do Conselho Central dos Anarquistas.
Quando Syme embarcou, teve a sensação singular de entrar para algo de completamente novo, não apenas no horizonte de uma nova terra, mas mesmo no horizonte de um novo planeta. Isto devia-se principalmente à decisão, louca e no entanto firme, que tomara naquela noite, e também em parte à completa mudança do tempo e do céu desde que, cerca de duas horas antes, entrara na pequena taberna. Todos os traços da plumagem vibrante do nublado pôr do Sol haviam sido varridos, e no céu nu brilhava apenas a Lua. Esta estava tão cheia e brilhante que (por um paradoxo que muitas vezes se observa) parecia um Sol mais fraco. Dava, não a sensação de um luar brilhante, mas sim a da luz pálida do dia.
Sobre toda a paisagem brilhava uma descoloração luminosa e artificial, semelhante ao crepúsculo desastroso de que Milton fala como sendo irradiado pelo Sol em eclipse. Foi por isso que Syme regressou facilmente à sua ideia primitiva de estar de facto num planeta diferente e mais vazio, que girava em volta de uma estrela mais triste. Mas quanto mais sentia esta desolação cintilante na terra iluminada pelo luar, mais a sua loucura cavalheiresca brilhava como um grande fogo na noite. Até as coisas vulgares que levava consigo, a comida, o brandy e a pistola carregada, tomavam precisamente aquela poesia concreta e material que uma criança sente quando leva uma espingarda em passeio ou um bolo para a cama. O estoque e o frasco de brandy, se bem que em si fossem apenas os instrumentos de conspiradores mórbidos, tornavam-se as expressões do seu próprio e mais sadio romance. O estoque quase se transformou na espada da cavalaria e o brandy no vinho do Graal. Porque até as mais desumanizadas fantasias modernas dependem de qualquer figura simples e antiga; as aventuras podem ser loucas, mas o aventureiro tem de estar no seu juízo. Sem São Jorge, o dragão nem sequer grotesco seria. Por isso era apenas a presença de um ser realmente humano que tornava imaginária esta paisagem inumana. Para o cérebro exagerador de Syme, as casas brilhantes e frias e os terraços junto ao Tamisa pareciam tão vazios como as montanhas da Lua. Mas até esta só é poética porque há um homem na Lua.
A lancha era manobrada por dois homens, e deslocava-se com dificuldade e lentamente. O luar claro que iluminava Chiswick desaparecera quando passaram Battersea, e ao chegarem debaixo do vulto enorme de Westminster começava a romper o dia. Este despontava como o quebrar de grandes barras de chumbo, mostrando laivos de prata, e aquela brilhava como fogo branco, quando a lancha, mudando de rumo, virou para um grande cais de acostagem, bastante para lá de Charing Cross.
Quando Syme olhou para as grandes pedras das docas, pareceram-lhe também escuras e gigantescas. Projectavam-se, imensas e negras, no enorme e claro nascer do dia. Tinha a sensação de que desembarcava nos degraus colossais de um palácio egípcio, e na verdade a imagem ajustava-se ao seu estado de espírito, porque, na sua ideia, subia ao ataque dos tronos sólidos de horrendos reis pagãos. Saltou do barco para um degrau escorregadio, e ficou firme, com o seu vulto escuro e esguio a destacar-se da enorme cantaria. Os dois tripulantes da lancha afastaram-na e viraram-na rio acima. Não tinham pronunciado uma só palavra.
CAPÍTULO V
O FESTIM DO MEDO
A princípio, a grande escadaria de pedra pareceu a Syme tão deserta como uma pirâmide, mas antes de chegar ao topo viu um homem encostado ao parapeito do cais, a olhar para o outro lado do rio. O seu aspecto era perfeitamente normal, de chapéu alto de seda, fraque ao rigor da moda e flor vermelha na lapela. Manteve-se imóvel enquanto Syme se aproximava passo a passo, até chegar suficientemente perto para distinguir, apesar de a luz da madrugada ser fraca e pálida, uma cara comprida, descorada e intelectual, terminando num pequeno tufo triangular de barba escura, enquanto o resto do rosto estava rapado. Este tufo de cabelo quase parecia um esquecimento, pois o resto da cara era do tipo que fica mais bem barbeado – bem cinzelada, ascética e, a seu modo, nobre.
Syme aproximou-se cada vez mais, reparando em tudo isto, e o vulto continuou imóvel.
Logo de início, um instinto dissera a Syme que era este o homem com quem devia encontrar-se. Depois, vendo que ele não fazia nenhum sinal, concluíra que não. Agora voltara-lhe de novo a certeza de que o homem tinha qualquer coisa de comum com a sua louca aventura. Porque, vendo um estranho aproximar-se, mantinha-se numa imobilidade que não era natural. Estava tão parado como um boneco de cera e irritava do mesmo modo. Syme olhou e tornou a olhar para a cara pálida, digna e delicada que continuava a fitar indiferente a outra margem. Em seguida tirou do bolso o certificado passado por Buttons, atestando a sua eleição, e pô-lo na frente daquela cara triste e bela. O homem então sorriu, e o seu sorriso foi um choque, porque era todo para um lado, subindo na face direita e descendo na esquerda.
Racionalmente, não havia motivo para se ficar assustado com isso. Muita gente tem este tique nervoso de sorrir torcido, e em alguns é até atraente. Mas nas circunstâncias em que Syme se encontrava, a madrugada escura, a sua perigosíssima missão e a ascensão das grandes pedras a escorrerem água, era caso para se enervar. Ali estavam um rio silencioso e um indivíduo também silencioso, cujo rosto chegava a ser clássico. E a coroar o pesadelo aquele sorriso torcido.
O espasmo foi instantâneo e a cara do homem voltou imediatamente à sua melancolia harmónica. Sem dar explicações, ou fazer perguntas, dirigiu-se a Syme como a um velho colega.
– Se formos até Leicester Square, chegaremos mesmo a tempo para o pequeno-almoço. Domingo insiste sempre em almoçar cedo. Você dormiu?
– Não.
– Nem eu – continuou o homem com naturalidade. – Vou ver se me deito depois do almoço.
Falava com amabilidade cordial, mas num tom completamente morto, que contrastava com o fanatismo do rosto. Quase parecia que, para ele, todas as palavras amigas eram conveniências inertes; e que a sua vida se resumia ao ódio. Depois de uma pausa, falou de novo:
– É claro que o secretário da delegação lhe disse tudo o necessário. Mas há uma coisa que nunca se pode dizer, e que é a última ideia do presidente, porque as ideias nascem nele como plantas numa floresta tropical. Caso não saiba, acho melhor dizer-lhe que ele agora insiste, até limites inconcebíveis, na ideia de nos ocultarmos mostrando-nos bem. A princípio, é claro, reuníamo-nos numa cela subterrânea, como faz a vossa delegação. Depois, Domingo fez-nos alugar um quarto particular num restaurante. Disse que se não parecesse que nos escondíamos ninguém nos procuraria. Bem sei que ele é um homem único sobre a Terra, mas às vezes chego a pensar que o seu cérebro colossal está a enlouquecer com a idade. Agora tomamos o pequeno-almoço numa varanda, uma varanda que, imagine, deita para Leicester Square.
– E que dizem as outras pessoas?
– O que dizem é simplicíssimo. Que somos um grupo de cavalheiros joviais a brincar aos anarquistas.
– Parece-me uma ideia muito inteligente.
– Inteligente! Diabos levem o atrevimento! Inteligente! – gritou o outro, com voz estridente, que foi tão desconcertante e discordante como o seu sorriso torcido. – Você, depois de ter visto Domingo um segundo, deixará de lhe chamar inteligente.
Com isto emergiram de uma rua estreita e viram Leicester Square banhada pelo Sol matutino. Suponho que nunca se saberá por que razão esta praça parece tão estrangeira e, em certos aspectos, tão continental. Será o ambiente estrangeiro que atrai os estrangeiros, ou serão eles que lhe dão esse ambiente? Naquela manhã o seu aspecto era particularmente brilhante e límpido. O conjunto da praça, das folhas iluminadas pelo Sol, da estátua e das linhas mouriscas do Alhambra, parecia uma réplica de uma praça francesa ou mesmo espanhola. E este efeito aumentou em Syme a sensação que, sob várias formas, tivera em toda aquela aventura, a sensação etérea de se ter transviado num mundo novo. Na realidade, desde rapaz que fora muitas vezes a Leicester Square comprar charutos ordinários. Mas ao dobrar a esquina, quando viu as árvores e as cúpulas mouriscas, quase ia jurar que estava numa cidade estrangeira, na Place de qualquer coisa.
Num dos cantos da praça projectava-se a esquina de um hotel luxuoso, mas sossegado, cujo corpo principal pertencia a uma rua que passava por trás. Na parede havia uma enorme janela, provavelmente a de um grande café e, exteriormente a ela, quase se podia dizer suspensa sobre a praça, uma varanda, circundada por formidável balaustrada, de tamanho suficiente para conter uma mesa de jantar. De facto estava lá uma ou, para ser mais exacto, uma mesa de almoço, e à roda dela, estiraçados ao sol e bem em evidência da rua, um grupo de indivíduos barulhentos e faladores, trajando todos à última moda, de coletes brancos e flores caras na lapela. Alguns dos seus ditos quase se ouviam do outro lado da praça. Então o severo secretário exibiu o seu sorriso estranho e Syme compreendeu que aquela almoçarada animada era o conclave secreto dos Dinamitistas Europeus.
Syme continuou a observá-los, e foi então que viu uma coisa em que ainda não reparara. Pode dizer-se que não a vira porque era grande de mais para ser vista. No extremo mais próximo da varanda, tapando uma grande parte da perspectiva, estavam as costas dum homem que parecia uma montanha. Quando Syme o viu pela primeira vez teve a sensação de que a varanda não aguentaria aquele peso. A vastidão do homem não estava apenas em ser descomunalmente alto e incrivelmente gordo: as suas proporções originais tinham sido delineadas em grande escala, como as de uma estátua destinada a ser colossal. A cabeça, coroada por cabelos brancos, dir-se-ia, vista de trás, maior do que devia ser uma cabeça. As orelhas que dela emergiam pareciam maiores que orelhas humanas. Estava proporcionada em grande escala, e esta sensação de tamanho era tão fantástica que, quando Syme o viu, toda as outras figuras diminuíram subitamente e tornaram-se anãs. Ainda ali estavam sentados como antes, com os seus fraques e as suas flores, mas parecia que o homenzarrão convidara cinco crianças a tomar chá.
Quando Syme e o seu guia se aproximaram da porta lateral do hotel, veio ao encontro deles um criado que sorria de tal forma que se lhe viam todos os dentes.
– Os cavalheiros estão lá em cima. Conversam e riem do que dizem. Falam em atirar bombas ao rei. E afastou-se rapidamente, com o guardanapo sob o braço, muito satisfeito com a estranha frivolidade dos cavalheiros lá de cima. Os dois homens subiram a escada em silêncio. Syme nunca pensara em perguntar se o homem monstruoso, que quase enchia e esmagava a varanda, era o grande presidente, que os outros todos tanto temiam: sabia que assim era, adquirira instantânea e inexplicavelmente essa certeza. Na realidade, Syme era um desses indivíduos cujo grau de receptividade a todas as influências psicológicas chega a ser ligeiramente perigoso para a estabilidade mental. Absolutamente destituído de medo, quando se tratava de perigos físicos, era demasiado sensível à aproximação do mal espiritual. Já por duas vezes naquela noite pequenas coisas sem significação o tinham sobressaltado e dado a sensação de se aproximar cada vez mais do quartel-general do Inferno, sensação essa que se tornou esmagadora ao aproximar-se do grande presidente.
A forma que ela tomou foi a de um capricho infantil e, no entanto, odioso. Enquanto atravessava o salão interior, em direcção à varanda, a cara de Domingo tornava-se cada vez maior, e de tal maneira que o assaltou o temor de que, ao chegar junto dela, fosse tão grande que não pudesse olhá-la sem gritar. Lembrou-se de que, em criança, não podia olhar para a má cara de Mémnon, no Museu Britânico, por esta ser um rosto demasiado grande.
Fazendo um esforço mais corajoso do que o necessário para se lançar a um abismo, dirigiu-se a uma cadeira vazia e sentou-se. Os outros acolheram-no com piadas bem-humoradas, como se o conhecessem há muito. Acalmou-se ao ver que usavam casacos convencionais e ao observar a cafeteira, sólida e brilhante. Depois tornou a olhar para Domingo. O rosto era enorme, mas no entanto humanamente suportável.
Na presença do presidente, toda aquela sociedade parecia trivial, não havia nada neles que à primeira vista atraísse a atenção, excepto que, por capricho do chefe, vestiam todos com respeitabilidade festiva, o que dava ao repasto o ar de um banquete de casamento. Havia no entanto um que se distinguia mesmo numa observação superficial. Aquele, pelo menos, era um bombista vulgar. É verdade que usava o colarinho branco e alto e a gravata de cetim, o uniforme da ocasião, mas do colarinho emergia uma cabeça absolutamente intratável e inconfundível, um matagal desconcertante de barba e cabelos castanhos, que quase lhe obscurecia os olhos, como um cão-de-água. Estes espreitavam sob o emaranhado, e eram uns olhos tristes de servo russo. O efeito desta figura não era tão terrível como a do presidente, mas tinha todo o ar diabólico que pode provir do completamente grotesco. Se daquele colarinho surgisse subitamente a cabeça de um cão ou de um gato, o contraste não seria mais disparatado.
Chamava-se, segundo parecia, Gogol, era polaco e naquele círculo de dias desempenhava o lugar de Terça-Feira. A sua alma e as suas palavras eram incuravelmente trágicas, não era capaz de se forçar a representar o papel próspero e frívolo que o presidente Domingo dele exigia. Quando Syme entrou, estava o presidente, com o desprezo audaz da desconfiança pública que era sua política, a troçar de Gogol pela sua falta de jeito para fingir dotes mundanos.
– O nosso amigo Terça-Feira – disse o presidente, com voz profunda, a um tempo calma e volumosa – o nosso amigo Terça-Feira parece não atingir a ideia. Veste-se como os elegantes mas aparentemente tem uma grandeza de alma tal que não lhe permite portar-se como eles. Insiste nos seus modos de conspirador de palco. Se um cavalheiro de fraque e chapéu alto passear em Londres, ninguém conclui que é um anarquista, mas se andar de gatas é possível que atraia a atenção. É isso que o nosso irmão Gogol faz, anda de gatas com tal diplomacia inexaustiva que já chegou ao ponto de ter dificuldade em andar direito.
– Não presto para disfarces – rosnou Gogol, casmurro, com uma forte pronúncia estrangeira. – Não me envergonho da causa.
– Envergonha-se, sim, meu rapaz, e a causa envergonha-se de si – disse, com bonomia, o presidente. – Você esconde tanto como qualquer outro: a questão é que não o sabe fazer, porque é um grande asno! Você pretende combinar dois métodos antagónicos. Quando um dono de casa encontra um homem debaixo da cama, provavelmente fará uma pausa para tomar nota do acontecimento, mas, se o homem usar chapéu alto, concordará comigo, meu caro Terça-Feira, que é natural nunca mais se esquecer do facto. Ora, quando você foi encontrado debaixo da cama do almirante Biffin...
– Não sirvo para me esconder – opôs Terça-Feira, sombrio e corando.
– Muito bem, meu rapaz, muito bem – disse o presidente, com entusiasmo –, você não serve para nada.
Enquanto continuava esta torrente de conversa, Syme ia observando melhor os homens que o rodeavam. Ao fazê-lo, sentiu voltar-lhe gradualmente a sensação de algo espiritualmente estranho.
Pensara de início que eram todos de estatura e configuração normais, com evidente excepção do cabeludo Gogol, mas, observando-os melhor, começou a notar algures em cada um deles um pormenor diabólico, exactamente como no homem que o esperara junto ao rio. Aquele riso torcido, que subitamente desfigurava o rosto do seu primitivo guia, era típico em todos eles. Cada um tinha em si qualquer coisa, que se apercebia talvez ao décimo ou ao vigésimo olhar, que não era normal e mal parecia humana. Apenas conseguia imaginar uma metáfora: eram homens elegantes e de presença a que um espelho falso e curvo dava um jeito adicional.
Só os exemplos individuais podem exprimir essa excentricidade semidisfarçada. O cicerone original de Syme usava o título de Segunda-Feira, desempenhava o cargo de secretário do Conselho, e o seu sorriso torcido era, exceptuando o horrível e alegre riso do presidente, aquilo que mais terror inspirava. Ma agora, que Syme o podia observar com mais espaço e luz, notou outros tópicos. O rosto era tão emaciado que parecia gasto pela doença e, no entanto, de qualquer maneira, a própria angústia dos olhos escuros negava isto. Não era mal físico que o apoquentava: notava-se-lhe nos olhos tortura intelectual, como se cada pensamento fosse uma dor.
Era um representante típico da tribo, cada um subtil e diferentemente esquisito. Junto a ele sentava-se Terça-Feira, o Gogol de cabeça emaranhada, cuja loucura era evidentemente maior. Seguia-se-lhe Quarta-Feira, um tal marquês de Saint Eustache, uma figura bastante característica. À primeira observação não se lhe notava nada de estranho, excepto que era o único àquela mesa que usava os fatos elegantes como se de facto fossem dele. Tinha uma barba negra à francesa, cortada em quadrado, e um fraque preto inglês, cortado ainda mais em quadrado. Mas Syme, sensível a essas coisas, achou que o acompanhava uma atmosfera opulenta que sufocava. Lembrava, sem razão, os cheiros anestesiantes e as lâmpadas mortiças dos poemas mais tenebrosos de Byron e de Poe. Simultaneamente, tinha-se a sensação de ele estar vestido, não de cores mais claras, mas de estofos mais macios: o seu negro parecia mais rico e quente que os tons escuros em redor, como se fosse composto de cor mais densa. O seu casaco preto parecia que o era apenas por ser de púrpura demasiado compacta, a sua barba negra parecia que o era apenas por ser de um azul muito carregado. E, na sombra e no cerrado da barba, via-se a boca vermelha, sensual e desdenhosa. Seria tudo menos francês, talvez judeu, talvez algo de mais fundo no coração do Oriente. Nos azulejos persas, brilhantemente coloridos, e em quadros que representam tiranos a caçar, vêem-se daqueles olhos em amêndoa, daquelas barbas negro-azuladas, daqueles cruéis lábios vermelhos.
Seguia-se Syme, e depois um homem muito velho, o professor De Worms, que ainda ocupava o posto de Sexta-Feira, apesar de a todo o momento se esperar a sua morte, o que deixaria o lugar vago. Excepto intelectualmente, estava no último estado de decadência senil. O rosto era tão cinzento como a comprida barba, a testa levantada e com as rugas finais do desespero. Em nenhum outro, nem mesmo em Gogol, o aspecto jovem dado pelo traje produzia um contraste mais aflitivo, porque a flor vermelha da lapela tinha por fundo um rosto cor de chumbo e o todo um efeito hediondo, como se alguns janotas embriagados tivessem vestido um cadáver com os seus fatos. Quando se levantava ou sentava, o que fazia com grande custo e perigo, exprimia algo de pior que simples fraqueza, algo ligado ao horror de toda aquela cena e que não se podia definir. Não era apenas decrepitude, era podridão. Outra fantasia odiosa passou pelo cérebro vacilante de Syme: não foi capaz de se coibir de pensar que se o homem mexesse um braço ou uma perna eles cairiam.
Mesmo na ponta sentava-se o indivíduo chamado Sábado, o mais simples e mais desconcertante de todos. Era um homem baixo, atarracado, de cara rapada, escura e quadrada, um médico que dava pelo nome de Bull. Possuía aquela combinação do savoir-faire com a grosseria bem-vestida que não é invulgar nos jovens médicos. Usava os fatos elegantes com mais confiança do que à-vontade, e o que usava mais de tudo era um sorriso permanente. Não havia nele nada de extraordinário, excepto os óculos escuros, quase opacos. Seria apenas um crescendo do capricho nervoso em que estava Syme, mas aqueles discos negros pareceram-lhe horríveis, lembraram-lhe vagamente histórias medonhas de moedas que se punham nas órbitas dos mortos, estava sempre a ver os óculos escuros e o esgar cego. Se o professor moribundo, ou mesmo o pálido secretário, os usassem, estariam a calhar, mas naquele homem mais jovem e mais robusto pareciam apenas um enigma. Assim, não se podia decifrar aquela cara, não se podia dizer o que significavam o seu sorriso ou a sua seriedade. Em parte por isto, em parte porque tinha uma virilidade normal, que faltava nos outros, pareceu a Syme que talvez fosse o pior daqueles homens maus – pensou mesmo que aqueles olhos se escondiam por serem horríveis de mais para se verem.
CAPÍTULO VI
O DESMASCARAMENTO
Eram assim os seis homens que haviam jurado destruir o Mundo. Por várias vezes Syme tentou manter o senso comum na presença deles. Por momentos concebia que aquelas ideias eram subjectivas, que estava apenas a ver homens vulgares, um dos quais velho, outro nervoso, outro míope. Mas aquela sensação de simbolismo antinatural voltava sempre. Cada figura parecia-lhe, não sabia explicar porquê, estar no limite das coisas, precisamente como a teoria deles estava no limite do pensamento. Sabia que cada um daqueles homens estava, digamos assim, no extremo de uma caminhada louca do raciocínio. Apenas podia imaginar, como numa fábula antiga, que se um homem seguisse em direcção ao ocidente até ao fim do Mundo, encontraria qualquer coisa, uma árvore, por exemplo, que fosse mais ou menos uma árvore, uma árvore possessa por um espírito; e que se marchasse em direcção ao Oriente, também até ao fim do Mundo, encontraria outra coisa que parecesse diferente do que era, talvez uma torre cuja própria forma fosse perversa. Assim lhe apareciam num horizonte infinito aquelas figuras violentas e inexplicáveis, visões do além. Os extremos da Terra aproximavam-se um do outro.
Enquanto reparava em tudo isto, falava-se sem interrupções, e não era dos menores contrastes daquela mesa alucinante a diferença entre o tom fácil e negligente da conversa e os seus terríveis propósitos. Discutiam acaloradamente uma acção imediata. O criado falara verdade quando dissera que eles discutiam reis e bombas. Daí a três dias o czar encontrar-se-ia em Paris com o presidente da República Francesa e, enquanto comiam ovos com presunto, aqueles cavalheiros sorridentes decidiam a maneira como ambos iam morrer. Até a arma estava escolhida. Era, segundo parecia, o marquês da barba negra que levaria a bomba.
Num caso normal, a proximidade deste crime prático e objectivo teria chamado Syme a si e tê-lo-ia curado de todos os seus temores meramente místicos. Não pensaria em mais nada senão na necessidade de evitar que dois corpos humanos fossem despedaçados pelo ferro e pelo fogo. Mas a verdade é que nesta altura começara a sentir uma terceira espécie de medo, mais penetrante e prático do que a sua repulsa moral ou a sua responsabilidade social. Era muito simplesmente isto: não tinha medo para gastar com o czar ou com o presidente francês, começara a temer por si próprio. Na maioria, os conversadores não lhe ligavam importância, e discutiam agora com as caras mais chegadas e quase sempre sérios, excepto quando por instantes o sorriso do secretário lhe corria pelo rosto como um relâmpago corre aos ziguezagues pelo céu. Mas havia um facto persistente, que perturbara Syme de início e acabara por o aterrorizar. O presidente estava sempre a olhar para ele, insistentemente, com grande e desconcertante interesse. O enorme homem estava absolutamente quieto, mas os olhos azuis saltavam-lhe da cara. E estavam constantemente fitos em Syme.
Este sentia tentações de se levantar e saltar por cima da balaustrada. Quando os olhos do presidente se fixavam nele, sentia-se feito de vidro. Quase não tinha sombra de dúvida de que, de qualquer forma silenciosa e extraordinária, Domingo descobrira que ele era um espião. Espreitou por cima da balaustrada e viu mesmo por baixo um polícia, parado, olhando abstractamente para os gradeamentos brilhantes e para as árvores iluminadas pelo sol.
Sofreu então a grande tentação que durante muitos dias o havia de atormentar. Na presença daqueles homens poderosos e repelentes, que eram príncipes da anarquia, quase esquecera o frágil e extravagante vulto do poeta Gregory, o esteta puro do anarquismo. Agora chegava a pensar nele com carinho, como se tivessem brincado juntos na infância. Mas recordou-se de que ainda estava ligado a ele por uma grande promessa. Prometera-lhe não fazer nunca exactamente aquilo que se sentia agora prestes a fazer. Prometera não saltar daquela varanda para ir falar ao polícia. Retirou a mão fria da fria balaustrada de pedra. A sua alma vacilou numa vertigem de indecisão moral. Bastava-lhe apenas quebrar o fio de uma jura arrebatada, feita a uma sociedade maldosa, para toda a sua vida se tornar aberta e soalheira como a praça a seus pés. Por outro lado, bastava-lhe manter a sua honra antiquada para cair centímetro por centímetro no poder deste grande inimigo do género humano, cuja própria inteligência era uma câmara de tortura. Quando olhava para a praça, tinha a visão consoladora do polícia, um pilar da ordem e do senso comum. Quando voltava o olhar para a mesa, via o presidente, que ainda o estudava sossegadamente com os seus grandes e insuportáveis olhos.
Em todo este caudal de pensamento, houve duas ideias que nunca lhe passaram pela cabeça. Primeiro, nunca duvidou que o presidente e o seu conselho o pudessem esmagar se continuasse a luta sozinho. Bem podia o lugar ser público, o projecto parecer impossível, mas Domingo não era homem para se exibir com tanto à-vontade sem ter, de qualquer maneira, preparado uma armadilha tremenda. Syme tinha a certeza de que ele o podia liquidar, fosse por veneno anónimo ou por um súbito acidente de viação, fosse por hipnotismo ou pelo fogo do Inferno. Se desafiasse o homem, provavelmente morreria, ou logo ali na cadeira ou muito mais tarde devido a uma doença aparentemente natural. Se chamasse imediatamente a polícia, os prendesse a todos, dissesse tudo, lançasse contra eles toda a energia da Inglaterra, era provável que escapasse, de outra maneira decerto que não. Estava numa varanda que deitava para uma praça alegre e buliçosa, rodeado de gentlemen, mas não se sentia em maior segurança do que se estivesse no alto-mar, num barco cheio de piratas armados até aos dentes.
Mas também nunca pensou em se passar espiritualmente para o inimigo. A fé de muitos modernistas, acostumados, na sua fraqueza, a adorarem a inteligência e a força, talvez tivesse vacilado perante aquela grande personalidade opressiva. Talvez tivessem chamado a Domingo o super-homem. E de facto, se tal criatura fosse concebível, ele, com aquela sua abstracção, que fazia tremer o mundo, como o faria uma estátua de pedra a andar, devia parecer-se muito com ela. Os seus grandes planos, demasiado evidentes para serem descobertos, o seu grande rosto, demasiado franco para ser compreendido, davam-lhe direito a um qualificativo que transcendesse o de homem. Mas nessa mesquinhez, própria dos modernistas, Syme não podia cair. Era, como qualquer, suficientemente cobarde para temer uma grande força, não bastante cobarde para a admirar.
Os conspiradores comiam enquanto falavam, e até nisto eram típicos. O Dr. Bull e o marquês serviam-se, com toda a naturalidade, das melhores coisas que havia na mesa: faisão frio ou pudim de Estrasburgo. O secretário, porém, era vegetariano, e falava com entusiasmo do atentado que se projectava tendo na frente um tomate semicru e um copo a três-quartos de água morna. O velho professor tinha falhas que sugeriam uma doentia segunda infância. E até no comer o presidente mantinha a sua curiosa supremacia sobre a simples massa, porque comia por vinte homens, comia incrivelmente, com um apetite sempre insatisfeito: parecia uma fábrica de salsichas. E sempre, depois de engolir uma dúzia de bolos ou de beber um litro de café, ficava com a enorme cabeça à banda, fitando Syme.
– Tenho pensado muitas vezes – disse o marquês, dando uma grande dentada numa fatia de pão com marmelada – se não seria melhor servir-me de um punhal. A maioria dos bons atentados têm sido consumados com o punhal, e seria uma emoção nova cravar uma faca no presidente da República Francesa e andar com ela às voltas.
– Engana-se – opôs o secretário, franzindo as sobrancelhas negras. – O punhal era apenas o símbolo de uma antiga questão pessoal com um único tirano. A dinamite é não só a nossa melhor arma como também o nosso melhor método. É um símbolo tão perfeito para nós como o incenso para os cristãos. Expande-se, e só por isso destrói. Também o pensamento só expandindo-se é que destrói. O cérebro humano é uma bomba! – gritou, dando subitamente largas à sua singular paixão e batendo com violência no crânio. – O meu cérebro parece dia e noite uma bomba! Tem de se expandir! Tem de se expandir! Tem de se expandir! O cérebro humano tem de se expandir, mesmo que estoire com o universo!
– Ainda acho cedo para o universo estoirar – disse, languidamente, o marquês. – Antes de morrer ainda tenho muitas coisas para fazer. Ontem, na cama, pensei numa delas.
– Se o fim do acto for o nada – declarou o Dr. Bull, com o seu sorriso esfíngico –, parece-me não merecer a pena realizá-lo.
O velho professor observou, fitando o tecto com os olhos mortiços:
– Todo o homem, no fundo do coração, sabe que nada merece a pena.
Depois de um silêncio embaraçoso, o secretário disse:
– Estamos, contudo, a afastar-nos do assunto. A única dúvida é o modo como Quarta-Feira vai executar o golpe. Acho que devemos todos concordar com a ideia inicial, a da bomba. Quanto aos pormenores, proponho que, antes de mais nada, ele vá amanhã cedo...
Uma enorme sombra interrompeu o discurso. O presidente Domingo erguera-se e parecia cobrir o céu.
– Antes de discutirmos isso – disse em voz baixa e calma –, vamos para um gabinete reservado. Tenho uma coisa a dizer-lhes em particular.
Syme foi o primeiro a levantar-se. Chegara por fim o momento de se decidir, à sua cabeça estava apontada uma pistola. Ouvia o polícia a passear lá em baixo, batendo os pés, porque a manhã, se bem que luminosa, estava fria.
Subitamente um realejo, lá na rua, rompeu numa música alegre, e Syme aprumou-se, como se ouvisse um clarim anunciando a batalha. Sentiu-se pleno de uma coragem sobrenatural, que não sabia de onde vinha. A música saltitante parecia cheia de vivacidade, da vulgaridade e do valor impensado dos pobres, que naquelas ruas sujas se agarravam às decências e às caridades da Cristandade. Varreu-se-lhe do pensamento a garotice de ser polícia, não pensava em si como representante de um grupo de cavalheiros transformados em polícias de fantasia, ou do velho excêntrico que vivia no quarto escuro. Sentia-se o embaixador dessa gente da rua, bondosa e natural, que todos os dias marchava para o combate ao som da música do realejo. E este grande orgulho de ser humano ergueu-o, inexplicavelmente, a uma altura infinita acima dos homens monstruosos que o cercavam. Durante um momento olhou para todas as excentricidades deles do alto do píncaro estrelado do lugar comum. Sentia em relação a eles aquela superioridade inexplicável e elementar que um homem valente sente em relação aos animais poderosos, ou o homem culto em relação aos grandes erros. Sabia que não possuía a inteligência nem a força física do presidente Domingo, mas de momento isso importunava-o tanto como não ter os músculos de um tigre ou um corno de rinoceronte no nariz. Quem tinha razão era o realejo, e essa certeza definitiva tudo submergia. Soava-lhe no cérebro aquele truísmo, tremendo e irrespondível, da canção de Rolando:
Paîens ont tort et chrétiens ont droit
que no velho francês nasal tinha o tilintar do ferro maciço. Esta libertação do seu espírito do peso da fraqueza era acompanhada de uma decisão perfeitamente clara de arrostar a morte. Se a gente do realejo era capaz de manter as suas obrigações, velhas como o mundo, também ele o era. O orgulho de manter a sua palavra estava em que a mantinha para com os descrentes. Seria o seu último triunfo sobre esses lunáticos, descer ao quarto escuro e morrer por uma coisa que eles nem sequer conseguiam compreender. Os sons da marcha tocada pelo realejo pareciam, pela energia e variedade, os de uma orquestra inteira, e ele ouvia, profundos e ribombantes sob as trombetas do orgulho da vida, os tambores do orgulho na morte.
Os conspiradores entraram pela janela aberta. Syme foi o último, exteriormente calmo, mas todo ele vibrando em ritmo de romance. O presidente levou-os, por uma escada lateral, irregular, que devia servir para os criados, até um quarto vazio, frio e mal iluminado, com uns bancos e uma mesa, como uma copa abandonada. Depois de todos entrarem, fechou a porta à chave.
O primeiro a falar foi Gogol, o irreconciliável, que parecia estoirar de queixas por fazer.
– Então! Então! – gritou, muito excitado, com a pronúncia polaca tão cerrada que mal se compreendia. – Dizem que não se escondem! Dizem que se mostram! É tudo tolice. Quando querem falar de assuntos importantes, fecham-se numa caixa escura!
O presidente pareceu acolher de bom humor a sátira incoerente do estrangeiro.
– Você ainda não aprendeu, Gogol – disse com ar paternal. – Desde o momento que nos ouviram na varanda a dizer tolices, não se interessam para onde vamos depois. Se viéssemos primeiro para aqui, teríamos todo o pessoal a espreitar ao buraco da fechadura. Você parece não perceber nada do género humano.
– Eu morro por ele – gritou o polaco excitadíssimo – e mato os seus opressores! Não me interessam estes jogos de escondidas. Atacarei o tirano na praça pública!
– Está bem, está bem – pronunciou o presidente, abanando carinhosamente a cabeça, enquanto se sentava à cabeceira da comprida mesa. – Você, primeiro, morre pelo género humano, depois ergue-se e destrói os opressores. Está tudo muito bem. Agora peço-lhe que domine os seus lindos sentimentos e se sente com os outros a esta mesa. Pela primeira vez nesta manhã se vai dizer uma coisa inteligente.
Syme, com a precipitação que mostrara desde o início, foi o primeiro a sentar-se. Gogol foi o último, resmungando para dentro da barba castanha qualquer coisa acerca de compromissos. Ninguém, excepto Syme, parecia ter uma noção do que se iria passar. O nosso herói tinha apenas a sensação de estar subindo ao cadafalso, com o intento de ao menos pronunciar um bom discurso.
– Camaradas – disse o presidente, levantando-se subitamente –, esta farsa já durou bastante. Chamei-os aqui para lhes dizer uma coisa tão simples e tão desconcertante, que até os criados lá em cima (há muito habituados às nossas excentricidades) seriam capazes de notar uma seriedade nova na minha voz. Camaradas, estávamos a discutir planos e a nomear lugares. Proponho, antes de dizer mais nada, que esses planos e esses lugares não sejam votados por esta assembleia, mas deixados inteiramente ao cuidado de um membro de confiança. Proponho para tal o camarada Sábado, o Dr. Bull.
Todos o fitaram, primeiro com espanto, depois em sobressalto, porque as palavras que se seguiram, se bem que não fossem ditas em tom elevado, tinham uma ênfase viva e sensacional. Domingo bateu na mesa.
– Nesta reunião não se deve dizer mais uma palavra acerca dos planos e dos locais. Nem o mais pequeno pormenor das nossas intenções deve ser mencionado nesta assembleia.
Domingo passara a vida a assombrar os seus partidários, mas parecia que nunca senão agora o fizera a valer. Todos se agitaram febrilmente, excepto Syme, que se conservou hirto, de mão na algibeira, agarrando o punho do revólver carregado. Quando viesse o ataque, venderia cara a vida. Veria ao menos se o presidente era mortal.
Domingo continuou com suavidade.
– Provavelmente compreendem que um único motivo me pode impedir o livre uso da palavra neste festival da liberdade. Um estranho que nos ouça não tem importância, julga que brincamos. Mas o que teria importância mortal seria estar entre nós alguém que não fosse nosso, que conhecesse o nosso grave propósito, sem o compartilhar, que...
O secretário gritou, aos pulos, como uma mulher:
– Não pode ser! Não pode ser!
O presidente assentou na mesa a grande mão aberta, que parecia a espinha dorsal de um enorme peixe.
– Sim – disse lentamente –, há neste quarto um espião. A esta mesa senta-se um traidor. Não gastarei mais palavras, chama-se...
Syme ergueu-se um pouco da cadeira, dedo firme no gatilho.
– Chama-se Gogol. É esse impostor cabeludo, que finge ser polaco.
Gogol ergueu-se de um salto, com uma pistola em cada mão. No mesmo instante caíram-lhe três homens em cima e até o professor fez um esforço para se levantar. Mas Syme pouco viu da cena. Caiu na cadeira, tremendo de alívio e cego por uma benéfica escuridão.
CAPÍTULO VII
A INEXPLICÁVEL CONDUTA DO PROFESSOR DE WORMS
– Sentem-se! – gritou Domingo, num tom de voz de que só se servia nas ocasiões excepcionais, numa voz que fazia homens deixarem cair das mãos espadas desembainhadas.
Os três homens que se haviam levantado largaram Gogol, até aquela personagem equívoca se tornou a sentar.
– Pois bem, meu caro senhor – disse o presidente asperamente, dirigindo-se a ele como se se tratasse de um desconhecido –, faz-me o favor de meter a mão na algibeira de cima do colete e mostrar-me o que lá tem?
Sob o emaranhado da barba via-se que o pretenso polaco estava um pouco mais pálido, mas foi com aparente sangue frio que meteu dois dedos na algibeira e tirou de lá uma tira de cartão azul. Syme, quando a viu em cima da mesa, acordou de novo para o mundo exterior. Porque, apesar de o cartão estar no outro extremo da mesa e não poder ver o que nele estava escrito, parecia-se assustadoramente com o cartão azul que ele tinha na algibeira, o cartão que lhe haviam dado quando se alistara na polícia antianarquista.
– Eslavo patético – proferiu o presidente –, trágico filho da Polónia, estais preparado para negar, na presença deste cartão, que nesta reunião sois, digamos... demais?
– Olá se sou – disse o ex-Gogol. Sobressaltou todos ouvir uma voz clara, comercial, um tanto londrina, sair daquele matagal de cabelo estrangeiro. Era tão irracional como se um chinês começasse de súbito a falar com sotaque escocês.
– Presumo que compreende perfeitamente a sua situação – disse Domingo.
– Claro – respondeu o polaco. – Fui bem caçado. Só digo que não acredito que polaco algum fosse capaz de imitar a minha pronúncia.
– Concedo esse ponto. Creio ser a sua pronúncia inimitável, no entanto hei-de treinar-me nela no banho. Importa-se de deixar a barba juntamente com o cartão?
– Nem por sombras – respondeu Gogol, e com um dedo arrancou a massa hirsuta que lhe cobria a cabeça, pondo à vista o cabelo ralo e ruivo e uma cara pálida e atrevida. – Fazia muito calor – acrescentou.
– Faço-lhe a justiça de reconhecer – disse Domingo, não sem uma certa admiração brutal – que sob ela você conservou o sangue bastante frio. Agora oiça-me. Gosto de si, e em consequência disso aborrecer-me-ia durante precisamente dois minutos e meio se ouvisse dizer que tinha morrido no meio dos maiores tormentos. Pois bem, se alguma vez falar de nós à Polícia ou a qualquer outro ser humano, terei esses dois minutos e meio de mal-estar. Sobre o mal-estar que você terá não insistirei. Bom dia. Cuidado com o degrau.
O detective ruivo que se mascarara de Gogol levantou-se sem dizer palavra e saiu com um ar de completa indiferença. No entanto, o atónito Syme verificou que esse à-vontade era forçado, pois um ligeiro tropeçar do outro lado da porta mostrou que o detective não tomara cuidado com o degrau.
– O tempo voa – disse o presidente, muito bem-disposto, depois de consultar o relógio que, como tudo nele, parecia maior que o devido. – Tenho de me ir embora imediatamente, para presidir a uma reunião de caridade.
O secretário virou-se para ele, com as sobrancelhas a tremer.
– Não seria melhor – perguntou, um tanto asperamente – continuarmos a discutir os pormenores do nosso projecto, agora que o espião se foi?
– Acho que não – disse o presidente, com um bocejo que parecia um tremor de terra. – Deixemos as coisas como estão, Sábado tratará do assunto. Tenho de ir andando. Almoçamos aqui no próximo domingo.
Mas a violência das cenas recentes excitara os nervos ultra-sensíveis do secretário, que era daqueles que até no crime são conscienciosos.
– Sou forçado a protestar, presidente, isso é irregular. É regra fundamental da nossa sociedade que todos os projectos sejam discutidos pelo Conselho. E claro que apreciei devidamente a sua discrição quando na presença de um traidor.
– Secretário – disse o presidente, muito sério –, se você levar para casa a sua cabeça e a cozer, talvez sirva como cenoura. Não posso garantir, mas talvez.
O secretário empinou-se, como um solípede espantado.
– Na realidade, não consigo perceber... – começou, muito ofendido.
– É isso mesmo, é isso mesmo – comentou o presidente, acenando muitas vezes a cabeça. – É isso de facto que você não consegue. Não consegue perceber. Pois bem, seu burro bailador – rugiu, levantando-se –, você não queria ser ouvido por um espião, não é verdade? Quem lhe diz que não está nenhum a ouvi-lo agora?
Com estas palavras abandonou o quarto, tremendo de desprezo indescritível.
Dos restantes, quatro ficaram de boca aberra, aparentemente sem um lampejo do que ele queria dizer. Syme foi o único que teve esse lampejo, e fê-lo gelar até aos ossos. Se as últimas palavras do presidente significavam alguma coisa, era que, no fim de contas, ele não passara por completo despercebido. Queriam dizer que se Domingo o não pudera desmascarar como a Gogol, no entanto não confiava nele como nos outros.
Os quatro restantes levantaram-se, resmungando mais ou menos, e partiram em busca do almoço, pois já passava bastante do meio-dia. O professor foi o último a ir-se embora, lenta e dificilmente.
Syme ficou ainda um largo espaço de tempo depois de os outros saírem, remoendo a sua estranha situação. Escapara de um raio, mas continuava sob uma nuvem. Por fim, levantou-se e saiu do hotel para Leicester Square. O dia, frio e límpido, resfriara ainda mais, e quando chegou à rua foi surpreendido por alguns flocos de neve. Ainda trazia consigo o estoque e o resto da bagagem portátil de Gregory, mas a capa deixara-a em qualquer parte, talvez na lancha, talvez na varanda. Esperando que o nevão fosse ligeiro, abrigou-se por um momento na porta de uma loja pequena e gordurenta, cuja montra ostentava apenas um doentio manequim de cera envolvido num vestido de noite.
No entanto, a neve começara a cair cada vez mais densa, e Syme, achando que a contemplação dessa imagem de cera lhe deprimia o espírito, saiu para a rua branca e vazia. Ficou muito admirado ao ver um homem parado defronte da loja, a olhar para a montra. O seu chapéu alto estava carregado de neve, como o capuz do Pai Natal, em redor das botas e dos tornozelos levantavam-se nuvens brancas, mas parecia que nada o conseguia arrancar à contemplação da boneca de cera incolor com um vestido de noite sujo. Que algum ser humano pudesse estar parado com um tempo daqueles a ver uma montra já chegava para espantar Syme, mas esse espanto moderado transformou-se subitamente numa emoção profunda quando percebeu que se tratava do decrépito professor De Worms. O lugar era dos menos indicados para uma pessoa da sua idade e estado de saúde.
Syme estava pronto a acreditar tudo a respeito das perversões dessa irmandade desumanizada, mas que o professor se tivesse apaixonado por aquela dama de cera era demais. Imaginou, pois, que a doença do homem (ou o que quer que fosse) lhe provocava ataques momentâneos de rigidez ou de transe. Não se sentia, porém, disposto a ter uma grande compaixão por ele. Pelo contrário, congratulou-se pelo ataque do professor e pelo seu andar trôpego e manco, que lhe facilitaria escapar-se e deixá-lo a milhas de distância. Porque antes de mais nada Syme queria fugir, nem que fosse só por uma hora, daquela atmosfera venenosa. Então poderia ordenar as ideias, delinear a atitude a tomar e decidir finalmente se devia ou não cumprir o juramento feito a Gregory.
Afastou-se, debaixo de neve, dobrou duas ou três esquinas, passou por outras tantas ruas, e entrou para almoçar num pequeno restaurante no Soho. Comeu reflectidamente quatro pratos estranhos e mal servidos, bebeu meia garrafa de vinho tinto e acabou, ainda meditando, por um café e um charuto. Instalara-se no primeiro andar do restaurante, cheio do tilintar de facas e do falatório de estrangeiros. Lembrou-se que antigamente imaginava serem anarquistas todos aqueles estranhos inofensivos e amáveis, e tremeu ao recordar o que era a verdade. Mas até aquele tremor continha a deliciosa vergonha do alívio. O vinho, a comida ordinária, aquele sítio familiar, as caras dos homens, naturais e tagarelas, quase lhe fizeram sentir que o Conselho dos Sete Dias era um pesadelo, e embora o soubesse apesar de tudo uma realidade objectiva, pelo menos estava distante. Entre ele e os sete tenebrosos havia casas altas e ruas populosas; era livre, na livre Londres, bebendo vinho entre homens livres. Foi mais à vontade que pegou no chapéu e na bengala e desceu ao rés-do-chão.
Quando entrou no salão inferior parou atónito. Instalado a uma mesa pequena, junto duma janela que dava para a rua branca de neve, estava o velho professor anarquista, de face erguida e pálpebras pendentes, bebendo um copo de leite. Por momentos Syme permaneceu tão rígido como a bengala a que se apoiava. Depois precipitou-se, passou pelo professor como se fosse com tanta pressa que o não visse, abriu a porta num rompante, bateu com ela e achou-se na rua.
«Andará aquele velho cadáver a seguir-me?», perguntou a si mesmo, mordendo o bigode. «Demorei-me tanto no restaurante que até aqueles pés de chumbo eram capazes de me apanhar. Consola-me é que estugando o passo o posso deixar tão distante como Tombuctu. Ou estarei a imaginar demais? Andaria ele a seguir-me? Decerto Domingo não seria tão trouxa que mandasse para isso um coxo.»
Partiu apressadamente, volteando a bengala, em direcção a Covent Garden. Quando atravessava o grande mercado começou a nevar com mais intensidade, o que, juntamente com o cair da tarde, tornou escassa a visibilidade e difícil a orientação. Os flocos de neve atormentavam-no como se fossem um enxame de abelhas prateadas. Entravam-lhe nos olhos, na barba, e exacerbavam-lhe ainda mais os nervos já excitados. Quando, já quase em passo acelerado, chegou ao princípio de Fleet Street, perdeu a paciência e, encontrando aberta uma loja de chá, entrou nela para se abrigar. Como pretexto pediu outra chávena de café. Mal acabara de o fazer, o professor De Worms, muito trôpego, entrou na loja, sentou-se com dificuldade e pediu um copo de leite.
A bengala de Syme caiu-lhe da mão com grande tinir, revelando o aço oculto, mas o professor não olhou. Syme, que normalmente tinha bastante sangue frio, estava boquiaberto, como um campónio perante as habilidades de um prestidigitador. Não vira nenhuma carruagem a segui-lo, não ouvira rodas a pararem à porta, segundo todas as aparências o homem viera a pé.
Mas o velhote não andava mais depressa que um caracol e Syme correra como o vento. Levantou-se, pegou na bengala, ainda meio maluco com aquela contradição da mais elementar aritmética, e saiu pela porta giratória, sem ter provado o café. Passava um ónibus para Bank, com uma velocidade invulgar. Para o apanhar teve de fazer uma violenta corrida de umas cem jardas, mas conseguiu saltar para o estribo e, parando um momento para normalizar a respiração, subiu para o andar de cima. Sentara-se há meio minuto quando ouviu atrás de si uma respiração pesada e asmática.
Virando-se rapidamente, viu, subindo a pouco e pouco as escadas, um chapéu alto, sujo e escorrendo neve, e sob a sombra da aba o rosto míope e os ombros trémulos do professor De Worms, que se sentou num banco, com a cautela característica, e se embrulhou até ao queixo na manta.
Todos os movimentos do corpo apodrecido e das mãos vagas do velhote, todos os seus gestos incertos e pausas aflitas pareciam mostrar sem sombra de dúvida que o homem estava pronto, no último grau da decadência física. Movia-se centímetro por centímetro, sentava-se com pequenas exclamações de cautela, e no entanto, a não ser que aquilo que as entidades filosóficas chamam tempo e espaço não tenham sequer vestígio de existência prática, era indiscutível que correra atrás do ónibus.
Syme pôs-se de pé sobre o carro oscilante e, depois de um olhar desesperado para o céu invernoso, que momento a momento se tornava mais lúgubre, desceu as escadas a correr. A custo reprimira o impulso elementar de saltar para a rua.
Demasiado perplexo para olhar para trás ou para raciocinar, meteu-se, como um coelho se mete na toca, num dos pequenos pátios que há ao lado de Fleet Street. Tinha uma vaga ideia de que este velho e incompreensível fantoche estava de facto a persegui-lo, e de que naquele labirinto de ruazinhas conseguiria fazê-lo perder a pista. Entrou e saiu dessas vielas torcidas, que mais pareciam frestas do que ruas, e quando já virara umas vinte esquinas e descrevera um polígono inconcebível, parou para escutar algum sinal de perseguição. Não havia nenhum, nem podia haver, pois as ruas estavam cobertas de neve silenciosa. Contudo, algures, antes do pátio do Leão Vermelho, reparou num sítio onde qualquer cidadão enérgico varrera a neve no espaço de uns vinte metros, pondo à vista a calçada húmida e brilhante. Quando passou não deu grande importância a isto e mergulhou de novo num dos ramos do labirinto, mas quando, umas cem jardas mais adiante, parou para escutar, teve um baque no coração, porque ouviu naquelas pedras a bengala tilintante e os passos laboriosos do diabólico inválido.
O céu estava carregado com as nuvens da neve, que punham Londres numa penumbra e opressão prematuras para aquela hora da tarde. De ambos os lados de Syme os muros da viela eram cegos e incaracterísticos, sem uma janelinha, sem qualquer espécie de abertura. Sentiu um impulso de fugir desta colmeia de casas e voltar de novo à rua larga e iluminada. Mas, antes de chegar à rua principal, ainda andou perdido durante muito tempo. E, quando a alcançou, foi dar muito mais acima do que pensava, ao vasto e vazio Ludgate Circus, e viu, projectando-se no céu, a Catedral de São Paulo.
A princípio ficou sobressaltado por ver aquelas grandes ruas tão vazias, como se uma epidemia tivesse devastado a cidade. Depois pensou para consigo que até certo ponto aquele vazio era natural, primeiro devido à tempestade de neve, segundo porque era domingo. A esta palavra, mordeu a língua: ela tomara para ele um sentido obsceno. Com a poeira da neve que se erguia alta, a atmosfera da cidade tornara-se num estranho crepúsculo esverdeado, como uma paisagem submarina. Por detrás da cúpula escura de São Paulo, o pôr do Sol, cerrado e tristonho, continha cores fumarentas e sinistras – verdes doentios, vermelhos mortiços e bronzes gastos, que tinham o brilho suficiente para fazer sobressair a brancura sólida da neve. Mas sobre o fundo dessas cores fúnebres erguia-se o vulto negro da catedral, e sobre a cúpula desta pendia uma chapada ocasional de neve, agarrada a ela como a um pico dos Alpes. Caíra por acaso, mas de tal maneira que cobria, a partir do topo, metade da cúpula, fazendo realçar, em tom prateado, o grande globo e a cruz. Quando Syme viu esta, perfilou-se subitamente e fez uma saudação involuntária com a bengala.
Sabia que atrás dele se arrastava, lenta ou velozmente, aquele símbolo do mal, a sua sombra, e não se importava. Parecia-lhe ser um símbolo da fé e do valor humano o facto de, enquanto o céu escurecia, aquele lugar elevado da terra permanecer claro. Os demónios talvez já tivessem conquistado a terra, mas ainda não a cruz. Teve um impulso novo de arrancar o segredo daquele paralítico bailarino e saltitante e, à entrada do pátio que dá para o Circus, voltou-se, de bengala na mão, para fazer frente ao seu perseguidor.
O professor De Worms dobrou lentamente a esquina da viela irregular, mostrando à luz de um candeeiro solitário o seu vulto disforme, que fazia lembrar irresistivelmente aquela figura tão imaginativa dos contos para crianças, «o homem torto que andou uma milha torta». Parecia de facto que as ruas tortuosas que palmilhara o tinham entortado. Aproximou-se cada vez mais, com a luz do candeeiro a reflectir-se nos óculos levantados, na cara paciente e erguida. Syme esperou por ele como São Jorge esperou pelo dragão, como um homem espera por uma explicação decisiva ou pela morte. O velho professor veio direito a ele e passou como se se tratasse de um perfeito desconhecido, sem sequer pestanejar.
Houve qualquer coisa nesta inocência silenciosa e inesperada que exasperou Syme. O rosto incolor e a atitude do homem pareciam afirmar que toda aquela perseguição fora um acidente. Syme sentiu-se galvanizado por uma energia intermédia entre amargura e irreverência de garoto. Fez um gesto como para atirar ao chão o chapéu do velho, gritou qualquer coisa como «agarra-me se puderes» e partiu à desfilada através do circo branco e aberto. Agora era impossível esconder-se e, olhando por cima do ombro, viu o velhote a segui-lo em grandes passadas, como um corredor da milha. Mas a cabeça que coroava aquele corpo saltitante era ainda pálida, grave e profissional, parecia um corpo de arlequim com cabeça de conferencista.
Esta caçada indecorosa atravessou Ludgate Circus, subiu Ludgate Hill, contornou a Catedral de São Paulo, percorreu Cheapside, enquanto Syme se ia lembrando de todos os pesadelos que tivera na vida. Depois virou para o rio e acabou quase junto às docas. Syme viu os vidros amarelos de uma taberna baixa e iluminada, atirou-se para dentro dela e pediu cerveja. Era uma taberna viciosa, cheia de marinheiros estrangeiros, um sítio próprio para tráfico de ópio e navalhadas.
Um momento depois entrou o professor De Worms, que se sentou cautelosamente e pediu um copo de leite.
CAPÍTULO VIII
O PROFESSOR EXPLICA
Quando Gabriel Syme se achou finalmente instalado numa cadeira e, na sua frente, também definitivamente arrumadas, as sobrancelhas levantadas e as pálpebras de chumbo do professor, todos os seus temores voltaram. No fim de contas era certo que este membro incompreensível do feroz Conselho o perseguira. Se o homem tinha uma individualidade como paralítico e outra como perseguidor, a antítese talvez o tornasse mais interessante, mas de modo nenhum mais inofensivo. Se o professor o desmascarasse, devido a qualquer incidente sério, seria um conforto muito escasso o não lhe poder fazer o mesmo. Esvaziou uma caneca de cerveja antes que o professor tocasse no leite.
Havia, no entanto, uma possibilidade, que lhe deixava ainda alguma esperança e, apesar disso, recurso algum. Havia uma vaga possibilidade de que esta aventura tivesse outro significado e não a mais leve suspeita. Talvez fosse uma formalidade habitual ou um símbolo. Talvez aquela correria idiota tivesse sido uma espécie de sinal amigável, que ele deveria ter compreendido. Talvez fosse um rito, talvez o novo Quinta-Feira fosse sempre perseguido ao longo de Cheapside, como o novo Lord Mayor é escoltado através dele. Estava mesmo a escolher uma pergunta para tactear o terreno, quando, súbita e simplesmente, o velho professor lhe cortou o fio. Antes que Syme pudesse fazer a primeira pergunta diplomática, o velho anarquista interrogara-o de repente, sem qualquer preparação:
– Você é polícia?
O que quer que fosse que Syme esperasse, nunca seria tão brutal e incisivo. Mesmo com a grande presença de espírito que tinha, apenas conseguiu balbuciar uma resposta, em ar de jocosidade trapalhona.
– Polícia? – disse, rindo vagamente. – Que foi em mim que lhe fez lembrar um polícia?
– O processo foi bastante simples – respondeu pacientemente o professor. – Pensei, e ainda penso, que você parece um polícia.
– Terei por acaso posto, por engano, um capacete de polícia, ao sair do restaurante? – perguntou Syme, rindo desordenadamente. – Ou terei um número gravado em qualquer sítio? Terão as minhas botas ar vigilante? Por que razão tenho de ser polícia? Por favor, deixe-me ser carteiro!
O velho professor abanou a cabeça, com uma gravidade que não deixava esperança, mas Syme prosseguiu com ironia febril:
– Mas talvez eu não tenha compreendido as subtileza da sua filosofia germânica. Talvez polícia seja um termo relativo. No sentido evolucionista, o chimpanzé transforma-se tão gradualmente no polícia que eu nunca consigo notar a diferença. O macaco é apenas o polícia que podia ser. Talvez a solteirona de Chapham Common seja apenas o polícia que podia ter sido. Não me importo de ser o polícia que podia ter sido. Não há nada que me importe de ser segundo o pensamento germânico.
– Você pertence à Polícia? – disse o velho, não fazendo caso da troça improvisada e desesperada de Syme. – Você é detective?
O coração de Syme quase parou, mas não mexeu um músculo do rosto.
– A sua insinuação é ridícula. Por que razão...
O velhote deu uma palmada violenta na mesa raquítica, quase a quebrando.
– Não me ouviu fazer uma pergunta concreta, seu espião barato? – berrou, em tom agudo e irritado. – É ou não agente da polícia?
– Não – respondeu Syme, com a sensação de ter a corda em volta do pescoço.
– Jura? – interrogou o velho, debruçando-se sobre a mesa, com a cara sem vida a tornar-se repugnantemente animada. – Jura? Jura? Se jurar falso será condenado! Quer que o Diabo vá dançar ao seu enterro? Quer ter um pesadelo sobre a campa? Não haverá qualquer engano? Você é um anarquista, é um bombista! Sobretudo, é ou não, de qualquer modo, um detective? Não pertence à Polícia Britânica?
Estendeu o cotovelo anguloso por cima da mesa e pôs ao ouvido a mão larga e papuda.
– Não sou da Polícia Britânica – disse Syme com calma louca. O professor De Worms deixou-se cair na cadeira, com um curioso ar de colapso meigo.
– É pena, porque eu sou.
Syme ergueu-se de um salto, derrubando o banco, que caiu com estrondo.
– Porque você é o quê? – perguntou com voz abafada. – Você é o quê?
– Sou polícia – proferiu o professor, sorrindo francamente pela primeira vez, com os olhos a brilharem por detrás dos óculos. – Mas como você pensa que polícia é apenas uma expressão relativa, está claro que não tenho nada que ver consigo. Pertenço à Polícia Britânica, mas, como você diz que não faz parte dela, a única atitude que posso tomar é dizer que o encontrei num clube de bombistas. Creio que o devo prender. – E, ao pronunciar estas palavras, pôs em cima da mesa um cartão azul, que era a réplica exacta daquele que Syme tinha na algibeira do colete, símbolo do seu poder como polícia.
Syme teve por um segundo a sensação de que o Cosmos estava de pernas para o ar, que as árvores cresciam para baixo e que tinha as estrelas sob os pés. Depois, lentamente, convenceu-se do contrário. De facto, durante as últimas vinte e quatro horas o Cosmos andara invertido, mas agora o universo endireitara-se de novo. O demónio de quem andara a fugir todo o dia não era senão um irmão mais velho, um da sua família, que, recostado do outro lado da mesa, se ria agora para ele. Naquele momento não perguntou pormenores, sabia apenas o facto, idiota e feliz, de que a sua sombra, que o perseguira com uma intolerável opressão de perigo, era apenas a sombra de um amigo que o procurava alcançar. Sabia que era simultaneamente um trouxa e um homem feliz. Porque a acompanhar toda a evasão de um estado mórbido tem de haver uma humilhação sadia. Nessas condições chega-se a um certo ponto em que só três coisas são possíveis: primeiro uma manifestação de orgulho satânico, segundo lágrimas e terceiro gargalhadas. Durante alguns segundos o egoísmo de Syme agarrou-se firme à primeira, depois, subitamente, adoptou a terceira. Tirando o seu próprio cartão de polícia da algibeira do colete, atirou-o para cima da mesa; depois, lançando para trás a cabeça, até a ponta da barba amarela quase apontar o céu, rompeu em gargalhadas bárbaras.
Havia qualquer coisa de homérico no riso de Syme que até naquela toca esconsa, sempre cheia de barulho de facas, pratos, canecas, brigas e correrias, fez com que vários homens semibêbados se voltassem.
– De que se ri, patrão? – indagou, espantado, um estivador.
– De mim – respondeu Syme, e continuou a dar largas à sua reacção. – Domine-se – disse o professor –, senão fica histérico. Beba mais cerveja, eu acompanho-o.
– Você ainda não bebeu o seu leite.
– O meu leite! – replicou o outro, com o mais profundo desprezo. – O meu leite! Imagina que eu, quando estou longe da vista dos malditos anarquistas, olho sequer para essa droga de um raio? Aqui nesta casa somos todos cristãos – acrescentou, olhando para a multidão titubeante –, se bem que não muito cumpridores. Acabar o leite? Com mil demónios, vou de facto acabá-lo – e com a mão varreu de cima da mesa o copo, que caiu no chão com um ruído de vidros partidos, derramando o líquido cor de neve.
Syme fitava-o com curiosidade feliz.
– Agora percebo. Você, está claro, não é nada um velho.
– Aqui não posso desmanchar a cara, é uma caracterização um tanto laboriosa. Agora se sou velho, não me compete dizer. Completei trinta e oito anos no meu último aniversário.
– Está bem, mas o que quero dizer é que não sofre de nada.
– Sou atreito a constipações – respondeu o outro negligentemente.
O riso de Syme tinha uma franqueza louca de alívio. Ria-se da ideia de o professor paralítico ser na realidade um jovem actor, vestido como se fosse enfrentar as luzes da ribalta, mas teria rido na mesma se o pimenteiro se entornasse.
O falso professor bebeu e limpou a barba postiça.
– Sabia que Gogol era um dos nossos?
– Eu? Não, não sabia – respondeu Syme, um tanto admirado. – Mas você também não?
– Nem por sombras – retorquiu o homem que se apelidava de Worms. – Pensava que o presidente falava de mim e tremia dentro das botas.
– E eu pensava que ele se referia a mim – disse Syme, continuando a rir desenfreadamente. – Enquanto aquilo durou, estive sempre com o dedo no gatilho.
– Também eu, e por certo Gogol estava na mesma.
Syme deu uma punhada na mesa.
– Mas então havia três dos nossos! Três em sete já é uma proporção. razoável. Se tivéssemos sabido que éramos três!
O rosto do professor De Worms escureceu, e não levantou o olhar.
– Éramos três, e no entanto mesmo que fôssemos trezentos nada podíamos fazer.
– Se fôssemos trezentos contra quatro? – indagou Syme, trocista.
– Se fôssemos trezentos contra Domingo – disse o professor sobriamente.
Este simples nome tornou Syme frio e sério; morrera-lhe o riso no coração antes de lhe morrer nos lábios. Saltou-lhe à ideia a cara do inesquecível presidente, tão sensacional como uma fotografia colorida, e reparou nesta diferença entre Domingo e todos os seus satélites: enquanto os rostos destes, por mais ferozes e sinistros que fossem, se apagavam lentamente da memória, o de Domingo parecia tornar-se mais real durante a ausência, como um retrato que se animasse lentamente.
Estiveram ambos calados durante uns momentos, depois a fala de Syme irrompeu como a espuma súbita do champanhe.
– Professor, isto é intolerável. Tem medo desse homem?
O professor ergueu as pesadas pálpebras e fitou Syme com uns grandes olhos azuis, muito abertos e de uma honestidade quase etérea.
– Tenho – respondeu suavemente. – E você também.
Syme ficou calado por um momento. Depois levantou-se, como se tivesse sido insultado, e afastou de si a cadeira.
– Sim – disse em voz indescritível –, tem razão. Tenho medo dele. Por isso juro perante Deus que procurarei esse homem que temo até o encontrar e aniquilar. Mesmo que o céu fosse o seu trono e a terra o seu pedestal, juro que o havia de atirar abaixo.
– Como? Porquê?
– Porque tenho medo dele, e ninguém deve deixar que exista no Mundo qualquer coisa de que tenha medo.
De Worms fitou-o, esgazeado de admiração. Fez um esforço para falar, mas Syme continuou em voz baixa, mas exaltada:
– Quem se rebaixaria a destruir apenas as coisas que não teme? Quem se debocharia ao ponto de ser apenas valente, como um vulgar pugilista? Quem se contentaria em ser sem temor, como uma árvore? Combata aquilo que teme. Lembra-se daquela velha história do padre inglês que administrou os últimos socorros espirituais ao bandido da Sicília e a quem, à hora da morte, o famigerado salteador disse: «Não lhe posso dar dinheiro, mas vou-lhe dar um conselho que lhe servirá para toda a vida: dedo na lâmina e espete para cima.» Digo o mesmo, espete para cima, mesmo que seja para as estrelas.
O outro olhou para o tecto, o que era um dos truques da sua pose, e declarou:
– Domingo é uma estrela fixa.
– Há-de vê-lo estrela cadente – opôs Syme, pondo o chapéu.
A decisão deste gesto fez com que o professor se erguesse lentamente.
– Sabe com precisão aonde vai? – perguntou, com ar de espanto benévolo.
– Sei. Vou impedir que lancem a bomba em Paris.
– E como conseguirá isso?
– Não sei – retorquiu Syme, sempre com a mesma decisão.
– Lembra-se, está claro – continuou o soi-disant De Worms, cofiando a barba e olhando pela janela – que, quando nos separámos, um tanto apressadamente, os preparativos para o atentado ficaram entregues ao marquês e ao Dr. Bull. A estas horas o marquês está provavelmente a atravessar o Canal. Mas é duvidoso que o próprio presidente saiba onde ele irá e o que fará, nós decerto que não sabemos. A única pessoa que sabe é o Dr. Bull.
– Ora bolas! E nós não sabemos onde esse está!
– Eu sei – disse o outro, com o seu curioso ar abstracto.
– E diz-me onde é? – perguntou Syme, ansioso.
– Vou levá-lo lá – respondeu o professor, tirando o chapéu do cabide.
Syme ficou a olhar para ele, hirto de excitação.
– Que quer dizer? Une-se a mim? Arrisca-se?
– Meu jovem amigo – disse o professor, bem-disposto –, diverte-me ver que você pensa que eu sou um cobarde. Quanto a isso direi apenas uma palavra, e será à maneira da sua retórica filosófica. Você julga que é possível derrubar o presidente, eu sei que é impossível e vou tentá-lo. – E abrindo a porta da taberna, o que fez entrar uma lufada de ar agreste, saíram ambos para as ruas escuras junto ao cais.
A maior parte da neve tinha-se derretido ou transformado em lama, mas aqui e além ainda se viam, na penumbra, umas manchas mais cinzentas do que brancas. As ruazinhas estavam escorregadias e cheias de poças, que reflectiam irregularmente e por acaso os candeeiros flamejantes, parecendo fragmentos de um outro mundo destruído. Syme sentia-se deslumbrado ao atravessar esta confusão crescente de luzes e sombras, mas o seu companheiro dirigia-se com desembaraço para onde, ao fundo da rua, um bocadinho do rio iluminado pelos candeeiros parecia uma barra de chamas.
– Onde vai? – perguntou Syme.
– Neste momento vou dobrar a esquina para ver se o Dr. Bull já recolheu ao leito. Ele é higiénico e deita-se cedo.
– O Dr. Bull mora aí ao virar da esquina?
– Não. Para falar verdade mora até um pouco distante, do outro lado do rio, mas daqui podemos ver se já se deitou ou não.
Dobrando a esquina enquanto falava, virou-se para o rio pardacento, salpicado de pontos luminosos, e apontou com a bengala para a outra margem. Nesse ponto da margem do lado de Surrey descia para o Tamisa, parecendo debruçado sobre ele, um aglomerado de edifícios altos, cheios de janelas iluminadas e elevando-se, como chaminé de fábricas, a alturas quase inconcebíveis. Havia então um bloco de casas que, pela sua posição e estrutura, parecia uma Torre de Babel com cem olhos. Syme, que nunca vira os arranha-céus da América, apenas em sonhos concebera construções como aquelas.
Estava ainda boquiaberto de espanto quando a luz mais alta daquele torreão de mil lâmpadas se apagou subitamente, como se aquele Argos negro lhe tivesse piscado um dos seus inumeráveis olhos.
O professor De Worms rodou nos calcanhares e bateu com a bengala na bota.
Viemos tarde. O higiénico doutor já foi para a cama.
– Que quer dizer? Então ele vive além?
– Vive, atrás daquela janela que você não vê. Venha comigo, vamos jantar. Amanhã de manhã temos de lhe fazer uma visita.
E sem gastar mais tempo com palavras, conduziu Syme através de várias ruas transversais, até chegarem ao bulício e luminosidade da Rua da Doca da Índia Oriental. O professor, que parecia conhecer bem as redondezas, dirigiu-se para um ponto onde, numa reentrância sombria e sossegada da linha iluminada das lojas, havia uma velha estalagem branca, muito escalavrada, e situada a uns vinte pés da rua.
– As boas estalagens inglesas são como os fósseis, encontram-se por toda a parte e por acaso – explicou o professor. – Uma vez encontrei uma decente no East End.
– Suponho – disse Syme, sorrindo – que esta é a correspondente no West End.
– É – anuiu o professor, com reverência, e entrou.
Ali jantaram e dormiram muito bem. As ervilhas e o presunto, que aquela gente extraordinária cozinhava bem, a aparição espantosa de um Borgonha proveniente da cave, deram o último retoque na sensação de uma nova camaradagem e conforto que Syme sentia. O isolamento fora o principal horror através de todas as suas atribulações, e não há palavras que exprimam o abismo entre o estar-se só e ter-se um aliado. Pode-se fazer aos matemáticos a concessão de quatro serem duas vezes dois, mas dois não são duas vezes um, dois são duas mil vezes um. É por isso que, apesar das centenas de desvantagens que tem, o mundo volta sempre à monogamia.
Syme pôde pela primeira vez contar toda a sua aventura, a partir do momento em que Gregory o levara à taberna junto ao rio. Fê-lo à vontade, e expandindo-se num monólogo luxuriante, como se fala a velhos amigos. Por seu lado, também, o homem que personificava o professor De Worms não se mostrou menos comunicativo. A sua história era quase tão disparatada como a de Syme.
– O seu disfarce é bom – disse Syme, esvaziando um copo de Macon. – Muito melhor que o de Gogo!. Achei logo de entrada que ele era cabeludo de mais.
– É uma diferença de teorias artísticas – replicou, pensativo, o professor. – Gogol é um idealista. Disfarçou-se segundo o ideal platónico ou abstracto de um anarquista. Eu sou realista, sou pintor de retratos. Mas, de facto, dizer que sou pintor de retratos não é a expressão apropriada. Sou um retrato.
– Não o compreendo.
– Sou um retrato – repetiu o professor. – Sou o retrato do célebre professor De Worms, que se encontra, segundo creio, em Nápoles.
– Quer dizer que a sua caracterização é uma cópia da cara dele? Mas ele não sabe disso?
– Sabe muito bem.
– Então porque não o denuncia?
– Porque eu o denunciei a ele.
– Explique-se.
– Com todo o prazer, se não se importa de ouvir a minha história – disse o eminente filósofo estrangeiro. – Sou actor de profissão e chamo-me Wilks. Quando estava no teatro lidei com toda a espécie de boémia e malandragem. Por vezes gente interessada nas corridas de cavalos, outras vezes a escória dos artistas, de ora em quando refugiados políticos. Numa ocasião, numa toca de sonhadores exilados, fui apresentado ao grande filósofo niilista alemão, o professor De Worms. Pouco aprendi a seu respeito, além da aparência, que era repugnante e que estudei cuidadosamente. Percebi que ele provara ser Deus o princípio destrutivo do Mundo, e por isso insistia na necessidade de uma energia furiosa e incessante que desse cabo de tudo. A energia, dizia ele, era o Tudo. Ele era míope, coxo e parcialmente paralítico. Eu, quando o conheci, estava muito bem-disposto, e embirrei tanto com ele que resolvi irritá-lo. Se fosse desenhador tinha-lhe feito a caricatura, mas, como era apenas actor, só podia representar essa caricatura. Caracterizei-me com a ideia de me tornar num exagero louco da pessoa suja do velho professor. Quando entrei no quarto, que estava cheio de partidários do homem, esperava ser recebido com uma gargalhada ou, se eles estivessem entusiasmados de mais, com protestos de indignação pelo insulto. Não lhe posso descrever a surpresa que tive quando a minha entrada foi acolhida por um silêncio respeitoso, seguido, depois das minhas primeiras palavras, por um murmúrio de admiração. Caíra sobre mim a maldição do artista perfeito. Tinha sido demasiado subtil, demasiado verdadeiro, pensavam que eu era na realidade o grande professor niilista. Eu era, então, um jovem espiritualmente são, e confesso que aquilo para mim foi um choque. E, antes que me pudesse recompor, alguns daqueles admiradores correram para mim, fulos de indignação, a dizer que eu fora publicamente insultado na sala seguinte. Indaguei qual a natureza desse insulto. Disseram-me então que um indivíduo impertinente se mascarara, numa paródia inconcebível da minha pessoa. Eu bebera champanhe a mais e decidi, num ataque de loucura, ir até ao fim. E, em vista disso, quando o verdadeiro professor entrou na sala foi para enfrentar a hostilidade da assembleia e o meu olhar glacial. Escuso de dizer que houve um choque. Os pessimistas à minha volta olhavam ansiosamente de um professor para o outro, a ver qual era na realidade o mais débil. Mas eu ganhei. Não se podia esperar que um velho doente como o meu rival fosse de uma fraqueza tão impressionante como um jovem actor na força da vida. Compreende, ele era de facto paralítico e, movendo-se dentro de limites definidos, não podia ser tão paralítico como eu. Depois tentou arrasar intelectualmente as minhas pretensões. Defendi-me com um ardil muito simples. Quando ele dizia uma coisa que ninguém, a não ser ele, percebia, respondia-lhe outra que nem eu próprio percebia. «Não imagine – disse ele – que teria conseguido deduzir o princípio de que a evolução é apenas negação, pois é inerente a ele a introdução de lacunae, que são essenciais na diferenciação.» Respondi desdenhosamente: «Leu isso tudo no Pinckwerts, e já há muito que Glumpe expôs a ideia de que a evolução funcionava eugenicamente.» Não merece a pena dizer que Pinckwerts e Glumpe nunca existiram, mas, com grande surpresa minha, toda aquela gente parecia lembrar-se muito bem deles, e o professor, achando que o método científico e misterioso o deixava à mercê de um adversário um tanto falho de escrúpulos, recorreu a um espírito mais popular. «Vejo – disse, trocista – que prevalece, como o porco falso de Esopo.» «E o senhor falha – respondi, sorrindo – como o porco-espinho de Montaigne.» Será necessário dizer que não existe nenhum porco-espinho em Montaigne? «A sua cartola é de tirar e pôr, tal como a sua barba», disse ele, e eu não tinha nada a responder a isto, que era verdade e tinha bastante espírito. Mas ri-me alegremente, e dizendo ao calhas «como as botas do panteísta», virei-lhe as costas, trazendo comigo os louros da vitória. O verdadeiro professor foi expulso, mas sem violência, apesar de haver um que tentou pacientemente arrancar-lhe o nariz. É agora, segundo creio, recebido em toda a Europa como um delicioso impostor. Compreende, o seu entusiasmo e a sua zanga tornam-no divertidíssimo.
– Está bem – disse Syme –, compreendo que você usasse durante uma noite, para fazer uma partida, a barba suja dele, mas não compreendo por que razão nunca mais a tirou.
– Isso é o resto da história. Quando os deixei, acompanhado de aplausos reverentes, desci a rua a coxear, à espera de estar bastante afastado para poder andar como gente. Qual não foi o meu espanto quando, ao dobrar a esquina, senti baterem-me no ombro. Virei-me e dei de caras com um enorme polícia, que me convidou a acompanhá-lo. Adoptei uma atitude paralítica e gritei com sotaque germânico. «Sim, acompanho os oprimidos do universo. Prende-me por eu ser o grande anarquista professor De Worms.» O polícia, impassível, consultou um papel que tinha na mão. «Não – disse cortesmente –, pelo menos não é bem assim. Prendo-o por não ser o célebre anarquista, o professor De Worms.» Este delito, se é que estava debaixo da alçada do código, era decerto o menos grave dos dois, e acompanhei o guarda, desconfiado mas não muito desanimado. Atravessei vários quartos, até chegar à presença de um oficial da Polícia que me explicou ter-se iniciado uma grande campanha contra o anarquismo e que a minha bem sucedida mascarada podia ser de grande valor para a segurança pública. Ofereceu-me um bom ordenado e um cartão azul. Apesar de a nossa conversa ter sido curta, pareceu-me um homem de grande bom senso e espírito, mas não posso dizer muito dele, porque...
Syme poisou a faca e o garfo.
– Bem sei, porque lhe falou num quarto escuro.
O professor De Worms fez que sim com a cabeça e esvaziou o copo.
CAPÍTULO IX
O HOMEM DOS ÓCULOS
– O Borgonha é tão bom! – disse tristemente o professor, poisando o copo.
– Pois não parece, você bebe-o como se fosse remédio.
– Tem de perdoar a minha maneira de ser – retorquiu, desalentado, o professor –, mas a minha situação é um tanto curiosa. Na realidade, interiormente estou a estoirar de alegria juvenil, mas tenho representado tão bem o professor paralítico que não consigo agora abstrair-me dele. Até quando estou entre amigos, e não tenho necessidade nenhuma de dissimular, não consigo deixar de falar baixo e de enrugar a testa. Compreende, sou perfeitamente feliz, mas só à maneira de um paralítico. No meu íntimo formam-se as mais alegres da exclamações, mas o tom é diferente quando me saem da boca. Havia de me ouvir dizer: «Anima-te, pá!» Fá-lo-ia chorar.
– E faz, mas penso que, à parte isso, você está um pouco preocupado.
O professor estremeceu e fitou-o.
– Você é um tipo muito esperto, e é um prazer trabalhar consigo. De facto, sobre a minha cabeça paira uma grande nuvem. Há um problema a encarar – disse, enterrando a careca nas mãos.
Depois prosseguiu em voz baixa:
– Sabe tocar piano?
– Sei – respondeu Syme, admirado. – Dizem até que tenho muito jeito.
E depois, como o outro não falasse:
– Espero que a nuvem se tenha dissipado.
Após um prolongado silêncio, o professor disse, ainda agarrado à cabeça:
– Nós amanhã vamos tentar uma coisa muito mais perigosa do que roubar da Torre de Londres as jóias da coroa. Vamos tentar roubar um segredo a um homem muito esperto, muito forte e muito mau. Creio que não há ninguém, à parte, claro está, o presidente, que seja tão assustador, tão formidável, como aquele homenzinho de óculos tão sorridente. Talvez não tenha o entusiasmo inflamado, o louco espírito de martírio pelo anarquismo, que caracterizam o secretário. Mas o fanatismo deste é humano, é quase uma atenuante. O doutorzinho, porém, é brutalmente são, e isso é mais chocante do que a enfermidade do secretário. Não reparou na sua detestável virilidade e vitalidade? Ele salta como uma bola de borracha. Repare nisto, Domingo não dormia (duvido mesmo que durma alguma vez) quando fechou os planos do atentado na cabeça redonda e negra do Dr. Bull.
– E pensa que esse monstro sem par ficará domesticado se eu lhe tocar piano?
– Não seja parvo – retorquiu o professor. – Falei no piano porque dá agilidade e independência aos dedos. Syme, se queremos sair vivos e sãos desta entrevista, necessitamos de um código de sinais que esse bruto não veja. Eu fiz uma cifra alfabética, um tanto tosca, que corresponde aos cinco dedos da mão; assim, vê? – e bateu com os dedos na mesa de madeira – M A L, mal, uma palavra de que talvez necessitemos amiúde.
Syme encheu outro copo de vinho e começou a estudar o esquema. Tinha um cérebro anormalmente perspicaz para enigmas, umas mãos extraordinariamente jeitosas para prestidigitação, e não levou muito tempo a aprender a transmitir mensagens pelo que pareciam pancadas distraídas na mesa ou no joelho. Mas o vinho e a companhia inspiravam-lhe sempre uma grande engenhosidade para a brincadeira, e o professor depressa se viu a braços com a energia demasiado vasta da nova linguagem, transmitida pelo cérebro aquecido de Syme.
– Havemos de ter algumas palavras-chave – disse este a sério. – Palavras de que é provável que precisemos, que tenham um sentido definido. A minha palavra favorita é coevo. Qual é a sua?
– Deixe-se de graças. Você não sabe o sério que isto é.
– Viçosa, também – continuou Syme, meneando sagazmente a cabeça. – Temos de ter «viçosa», palavra que se aplica às plantas, não sabe?
– Imagina – perguntou, furioso, o professor – que vamos falar acerca de plantas com o Dr. Bull?
– Há várias maneiras de chegarmos ao assunto – disse, pensativo, Syme – e de empregarmos a palavra sem parecer forçada. Podíamos dizer «Dr. Bull, como revolucionário que é, lembra-se que uma vez um tirano nos aconselhou a comer erva, e, de facto, muitos de nós, vendo a erva viçosa no Verão...»
– Compreenderá você que isto é uma tragédia?
– Perfeitamente, e nas tragédias deve-se sempre ser cómico. Que raio se pode ser mais? Gostaria que esta nossa linguagem tivesse um âmbito mais vasto. Suponho que não se pode alargar aos dedos dos pés. Para isso seria necessário tirar as botas e as meias durante a conversa, o que, por mais discretamente que fosse feito...
– Syme – pronunciou o amigo com severidade –, vá para a cama.
Syme, contudo, ficou muito tempo acordado, treinando-se no novo código. Quando despertou na manhã seguinte ainda o nascente estava escuro, e junto da cama, como um fantasma, encontrava-se o seu aliado de barba branca.
Syme sentou-se, abriu os olhos, coligiu lentamente as ideias, afastou a roupa da cama e levantou-se. Pareceu-lhe que com a roupa da cama se fora a segurança e sociabilidade da noite anterior e que o ar frio anunciava perigo. Ainda sentia inteira confiança e lealdade para com o seu companheiro, mas era a confiança que há entre dois homens que sobem juntos ao cadafalso.
– Sabe? – disse Syme, enfiando as calças e forçando a boa disposição. – Sonhei com o seu alfabeto. Levou muito tempo a fazê-lo?
O professor, com os olhos cor do mar invernoso fitos na frente, não respondeu e, em vista disso, Syme repetiu a pergunta.
– Oiça lá, levou muito tempo a inventá-lo? Eu tenho bastante jeito para estas coisas e levou-me um bom bocado a aprendê-lo. Você aprendeu logo?
O professor continuou silencioso, de olhos muito abertos e sorrindo levemente.
– Quanto tempo lhe levou?
O professor continuou impávido.
– Raios o partam, custa-lhe responder? – gritou Syme, com irritação que escondia um certo medo.
Não sabia se o professor podia responder ou não. Olhou para o rosto incrível que parecia pergaminho, para os olhos azuis, que nada diziam. A sua primeira ideia foi que o professor enlouquecera, mas a segunda foi mais aterrorizante. Afinal, que sabia ele desta estranha criatura, que imprudentemente aceitara como amigo? Que sabia ele senão que o homem estivera no almoço dos anarquistas e lhe contara uma história ridícula? Era pouco provável que, além de Gogol, houvesse outro amigo! Seria o silêncio deste homem uma maneira sensacional de declarar guerra? Seria, no fim de contas, aquele olhar adamantino o horrível esgar de troça de um triplo traidor que se virara pela última vez? Aprumou-se e apurou o ouvido. Quase imaginou ouvir moverem-se no corredor os bombistas que o vinham capturar.
Depois baixou o olhar e rompeu numa gargalhada. Se bem que o professor estivesse mudo como uma estátua, os seus cinco dedos bailavam sobre a mesa. Syme observou os movimentos rápidos da mão que falava e leu claramente a mensagem...
– Só falarei assim. Temos de nos habituar.
Syme dedilhou a resposta, com a impaciência provocada pelo alívio.
– Fixe. Vamos almoçar.
Pegaram em silêncio nos chapéus e nas bengalas, mas Syme, quando agarrou no estoque, fê-lo com firmeza.
Pararam apenas alguns momentos num quiosque, a fim de tomarem café e comerem umas sandes grossas e mal feitas, depois atravessaram o rio, que à luz parda e crescente parecia tão desolador como o Aqueronte. Chegaram à base do enorme bloco de construções, que tinham visto da outra margem, e começaram a subir em silêncio os degraus de pedra, numerosos e nus, parando volta e meia para dedilharem curtas observações no corrimão. No alto de cada lanço havia uma janela e, através dela, viam a madrugada pálida e trágica a erguer-se laboriosamente sobre Londres. Viam, de cada uma, os inumeráveis telhados de ardósia, que pareciam as ondas plúmbeas de um mar cinzento e remexido depois da chuva. Syme tinha a consciência cada vez mais nítida de que esta nova aventura era de uma lógica fria muito pior que as loucas aventuras passadas. Por exemplo, na véspera aqueles altos edifícios pareciam-lhe torres num sonho e agora, ao subir, as escadas infindáveis assustavam-no e confundiam-no pelas suas séries quase infinitas. Mas não era o horror sobreaquecido de um sonho ou de algo que pudesse ser exagero ou ilusão. O seu infinito parecia-se mais com o infinito oco da aritmética, uma coisa incompreensível e no entanto necessária ao pensamento. Ou era como os dados assustadores da astronomia, acerca das distâncias às estrelas fixas. Estava subindo ao lar da razão, uma coisa mais horrível ainda do que a própria falta de razão.
Ao chegarem ao andar do Dr. Bull, uma última janela mostrou-lhes a manhã áspera e branca, orlada de nuvens vermelhas, que mais pareciam pedaços de barro. E quando penetraram no sótão vazio onde habitava o Dr. Bull, aquele estava cheio de luz.
Uma visão semi-histórica assaltou Syme ao ver aqueles quartos vazios e a madrugada austera. No momento em que viu o sótão e o Dr. Bull sentado a escrever a uma mesa, lembrou-se do que era: a Revolução Francesa. Naquele vermelho e branco da manhã devia vislumbrar-se a silhueta negra da guilhotina. O Dr. Bull vestia apenas camisa branca e calças pretas; a sua cabeça escura, com o cabelo cortado rente, podia ter acabado de sair de uma cabeleireira; podia ser Marat ou um Robespierre mais grosseiro.
E no entanto, vendo bem, essa ideia desvanecia-se. Os jacobinos eram idealistas e naquele homem havia um materialismo criminoso. A sua posição dava-lhe um aspecto novo. A luz forte e branca da manhã, vinda de lado, criava sombras aguçadas e fazia-o parecer mais pálido e anguloso do que no almoço da varanda. Assim os dois vidros negros que tinha nos olhos podiam muito bem ser cavidades negras, o que o fazia parecer uma caveira. E, de facto, se alguma vez a morte se sentasse a escrever a uma mesa, seria como ele.
Quando os dois amigos entraram, olhou e sorriu cordialmente, e ergueu-se com a rapidez saltitante de que o professor falara. Ofereceu cadeiras, foi buscar a um cabide atrás da porta um colete e um casaco de fazenda escura, que abotoou cuidadosamente, e tornou a sentar-se à mesa.
O bom humor calmo da sua atitude deixou os seus adversários sem recursos. Foi com certa dificuldade que o professor quebrou o silêncio e começou:
– Lamento incomodá-lo tão cedo, camarada – disse, retomando cuidadosamente os modos do vagaroso De Worms. – Sem dúvida que já fez todos os preparativos para o caso de Paris? – E acrescentou, com infinita lentidão: – Temos informações que tornam impossível qualquer demora.
O Dr. Bull sorriu de novo, mas continuou a fitá-los sem abrir a boca. O professor recomeçou, pausando antes de cada palavra.
– Por favor, não me ache excessivamente rude, mas aconselho-o a alterar os planos ou, se for tarde de mais, a seguir o seu agente a fim de o auxiliar no que puder. O caso que se passou com o camarada Syme e comigo leva tempo de mais a contar, se quisermos agir em conformidade com ele. No entanto, relatarei pormenorizadamente a ocorrência, se acha que isso é necessário para a completa compreensão do assunto a discutir.
Desenrolava as frases, tornando-as intoleravelmente longas e retardadas, à espera de provocar no prático doutorzinho uma explosão de impaciência que lhe fizesse mostrar o jogo. Mas este continuava a olhar e a sorrir, e o monólogo tornava-se dificílimo. Syme começou a desesperar. O sorriso e o silêncio do doutor não eram como o olhar cataléptico e o silêncio horrível que meia hora antes vira no professor. Na caracterização e maneiras deste havia sempre um pouco de grotesco, como num fantoche. Syme lembrava-se dos terrores da véspera como nos lembramos que em criança tínhamos medo do papão. Mas aqui, à luz do dia, estava um homem saudável, de ombros largos, vestido de flanela, normal, à parte os feios óculos, sem fazer esgares, mas sorrindo sempre e não dizendo palavra. Tudo aquilo tinha um ar insuportável de realismo. Sob a luz do sol, que aumentava de intensidade, as cores do rosto do doutor, o padrão do seu vestuário, cresciam e expandiam-se insolentemente, tal como nas novelas realistas, em que essas coisas tomam importância demasiada. Mas o sorriso era suave, a posição da cabeça amável, só o seu silêncio era estranho.
– Como digo – recomeçou o professor, com dificuldade semelhante à de um homem a caminhar na areia enxuta, o caso que se passou connosco e nos levou a pedir-lhe informações acerca do marquês é de tal ordem que você talvez ache preferível ouvi-lo contado, mas como se passou mais com o camarada Syme do que comigo...
As suas palavras arrastavam-se e Syme, que o observava, viu os compridos dedos transmitindo uma mensagem:
– Você tem de continuar. Este diabo secou-me.
Syme atirou-se para a brecha com aquela bravata de improvisação que tinha sempre que estava em perigo.
– Sim, o facto passou-se comigo. Tive a sorte de entabular conversa com um detective, que me tomou, graças ao meu chapéu, por uma pessoa respeitável. Desejando firmar essa reputação de respeitabilidade, levei-o ao Savoy e embriaguei-o. Sob a influência do álcool, começou a fazer-me confidências e disse-me que dentro de um dia ou dois esperavam prender o marquês em França. Por isso, a não ser que você o apanhe...
O doutor continuava a sorrir da maneira mais cordial, e os seus olhos protegidos continuavam impenetráveis. O professor fez sinal a Syme de que continuaria a explicação, e prosseguiu com a mesma calma estudada:
– Syme imediatamente me confiou esta informação e viemos ambos aqui para nos aconselharmos consigo sobre as disposições a tomar. Parece-me fora de dúvida que é urgente...
Durante este tempo Syme estivera a observar o doutor com uma atenção igual àquela com que este fitava o professor, menos o sorriso. Os nervos dos dois companheiros de armas estavam quase a quebrar com a tensão daquela amabilidade imóvel, quando subitamente Syme se encostou à mesa e começou a bater-lhe na borda com os dedos. A mensagem que transmitiu ao seu aliado foi: «Tenho uma intuição.»
O professor, sem interromper o monólogo, respondeu:
«Sente-se em cima dela.»
Syme telegrafou: «É extraordinário.»
O outro respondeu: «Extraordinário é o diabo que o carregue.»
Syme disse: «Sou um poeta.»
O professor retorquiu: «Você é mas é um cadáver.»
Syme corara e os olhos ardiam-lhe de febre. Como dissera, tivera uma intuição, que crescera até se tornar numa certeza tida de ânimo leve. Recomeçando os toques simbólicos, transmitiu: «Não imagina quão poética é a minha intuição. Tem aquele inesperado que às vezes sentimos quando chega a Primavera.»
Observou os dedos do amigo, que lhe respondiam: «Vá para o diabo!»
O professor recomeçou o monólogo verbal, dirigindo-se ao doutor.
«Exprimir-me-ia melhor – continuou Syme com os dedos – se dissesse o cheiro a maresia que se nota no coração das florestas viçosas.»
O seu companheiro não se dignou responder.
«Ou ainda – dedilhou Syme – que é tão positivo como o cabelo ruivo e apaixonado de uma mulher bela.»
O professor continuava o seu discurso, mas, no meio dele, Syme decidiu agir. Inclinou-se para a mesa e disse, em tom que não podia ser desprezado:
– Dr. Bull!
A cabeça sorridente do doutor não se mexeu, mas adivinhou-se que os olhos, escondidos pelos vidros escuros, se precipitaram para Syme.
– Dr. Bull – disse este, em tom particularmente preciso e cortês –, faz-me um favor? Terá a bondade de tirar os óculos?
O professor virou-se na cadeira e olhou, gelado de fúria e de espanto, para Syme. Este, como um homem que jogou a vida e a fortuna numa única cartada, inclinou-se mais, de rosto febril. O doutor continuou imóvel.
O silêncio que se fez durante alguns segundos foi tal que se ouviria cair um alfinete, e apenas uma vez foi interrompido pela sereia distante de um vapor no Tamisa. Depois o Dr. Bull ergueu-se lentamente, ainda a sorrir, e tirou os óculos.
Syme levantou-se de um salto, recuando um pouco, como um professor de química se afasta da explosão bem sucedida. Os seus olhos brilhavam como estrelas e, por um momento, não pôde falar, apenas apontava.
O professor também se levantou vivamente, esquecendo-se da sua suposta paralisia. Encostou-se às costas da cadeira e mirou incrédulo o Dr. Bull, como se este, ali à sua vista, se tivesse transformado num sapo. E na verdade a transformação era quase tão grande.
Os dois detectives viram, sentado na cadeira diante deles, um homem novo, com cara de garoto, olhos cor de avelã, vivos e francos, uma expressão acolhedora, vestindo um fato londrino, como o de um empregado de escritório, e indiscutivelmente o aspecto de ser um indivíduo normal e muito boa pessoa. O sorriso ainda lá estava, mas podia ser o primeiro sorriso de um bebé.
– Eu sabia que era poeta – gritou Syme, em êxtase –, sabia que a minha intuição era tão infalível como a do papa! Eram os óculos que o transformavam! Eram os óculos! Aqueles olhos negros combinados com o resto, com o ar saudável e o aspecto jovial, tornavam-no um demónio vivo entre os mortos.
– É certo que faz uma grande diferença – disse, trémulo, o professor –, mas com respeito ao projecto do Dr. Bull...
– O projecto que se lixe! – berrou Syme, de cabeça perdida. – Olhe para ele! Veja-lhe a cara, o colarinho, as botas! Não imagina, julgo eu, que aquilo seja um anarquista?
– Syme! – gritou o outro, apreensivo.
– Pois bem! – disse Syme. – Eu arrisco-me! Dr. Bull, sou um agente da polícia! Aqui está o meu cartão de identidade – e atirou para cima da mesa o cartão azul.
O professor ainda receava que estivesse tudo perdido, mas era leal. Puxou do seu cartão e pô-lo ao lado do de Syme. O terceiro homem rompeu numa gargalhada e, pela primeira vez naquela manhã, ouviram-lhe a voz.
– Ainda bem que a rapaziada veio tão cedo – disse, com petulância de estudante –, assim podemos seguir todos juntos para França. Eu também pertenço à corporação – e mostrou-lhes o cartão azul.
O doutor enterrou um coco na cabeça, repôs os óculos fantasmas e deslocou-se para a saída com tal rapidez que os outros seguiram-no instintivamente. Syme parecia um pouco distraído e ao passar pela porta bateu de repente com a bengala no chão.
– Por Deus! – gritou. – Se isto tudo está certo, naquele Conselho diabólico havia mais polícias de que bombistas!
– Podíamos ter lutado à vontade – disse Bull. – Éramos quatro contra três.
O professor, que descia à frente, disse lá de baixo:
– Não, não éramos quatro contra três, não tínhamos essa sorte. Éramos quatro contra Um.
Os outros desceram em silêncio. O jovem chamado Bull insistiu, com a amabilidade inocente que o caracterizava, em ir no último lugar até à rua, mas chegados lá a sua rapidez robusta impôs-se inconscientemente, e dirigiu-se, em passo rápido, à frente, para uma agência de informações de caminhos de ferro, falando por cima do ombro para os outros.
– Que bom é ter camaradas. Sozinho, andava meio morto de susto. Quase abracei Gogol, o que teria sido imprudente. Espero que não me desprezem se lhes disser que as cortei.
– Todos aqueles demónios – afirmou Syme – me fizeram cortá-las. Mas o pior era você e os seus óculos infernais.
O rapaz riu de contente.
– Bem feito, não era? Uma ideia tão simples não é minha. Não tenho cabeça para isso. Compreendem, eu queria entrar para a Polícia, especialmente para a secção antianarquista. Mas para isso queriam-me mascarar de bombista, e todos juravam que eu nunca me poderia parecer com um bombista. Diziam que a minha maneira de andar era respeitável de mais, e que visto por trás parecia a Constituição Britânica. Diziam que eu era muito saudável, muito optimista, que parecia honesto e benevolente de mais; na Scotland Yard chamaram-me tudo. Disseram-me que, se eu fosse um criminoso, teria feito fortuna por me parecer tanto com um homem de bem, mas, como tinha o azar de ser honesto, não havia a mais remota probabilidade de os poder ajudar parecendo-me com um criminoso. Por fim fui levado à presença de um tipo graúdo da Polícia, e que tinha em cima dos ombros uma cabeça que nunca mais acabava. Todos os outros falaram, desconsolados. Um indagou se uma barba hirsuta não esconderia o meu lindo sorriso, outro disse que se me mascarrassem a cara talvez passasse por um anarquista negro, mas o velhote cortou a conversa com uma observação extraordinária: «O que ele precisa é de um par de óculos escuros. Olhem para ele agora, parece um anjinho. Ponham-lhe uns óculos escuros e as crianças quando o virem berram de medo.» E, com efeito, assim foi. Depois de ter os olhos tapados, tudo o resto, sorriso, ombros largos e cabelo curto, me fazia parecer um autêntico diabo. Foi como os milagres, muito simples depois de feito, mas não foi essa a parte mais milagrosa da questão. Houve um ponto extraordinário no caso e ainda hoje, quando penso nele, sinto a cabeça andar à roda.
– Que foi? – perguntou Syme.
– Foi o seguinte. Aquele passarão da Polícia, que percebeu logo que os óculos ficavam bem com o meu cabelo, esse tipo nunca me chegou a ver!
Syme lançou-lhe um olhar penetrante e disse:
– Como assim? Julguei que você lhe tinha falado.
– De facto, mas num quarto tão escuro como uma carvoaria. Ora aí está, você nunca pensaria que assim fosse.
– Pois não – anuiu Syme, gravemente.
– É uma ideia original – acrescentou o professor.
O novo aliado era, em questões práticas, um autêntico furacão. Na agência de informações indagou, desembaraçado, quais os comboios para Dover. Sabido isto, meteu o grupo numa carruagem e, antes que eles soubessem como aquilo fora feito, já estavam no comboio. E antes que a conversa se desenvolvesse já estavam a bordo do barco para Calais.
– Já tinha planeado – explicou – ir almoçar a França, mas estou encantado por ter companhia. Compreendem, tive de mandar à frente com a bomba aquela fera, o marquês, porque o presidente andava a desconfiar de mim, não sei porquê. Um dia lhes contarei a história. Era terrível. Sempre que me queria escapulir via algures o presidente, ou sorrindo-me da varanda de um clube ou tirando-me o chapéu do alto de um ónibus. Vocês podem dizer o que quiserem, mas aquele tipo vendeu-se ao diabo, está em seis sítios ao mesmo tempo.
– E por isso você despachou o marquês? – perguntou o professor. – Foi há muito? Chegaremos a tempo de o apanhar?
– Chegaremos – respondeu o novo guia. – Tabelei isso tudo. Ainda estará em Calais quando lá chegarmos.
– Mas, se o apanharmos em Calais, que faremos?
Com esta pergunta o Dr. Bull ficou, pela primeira vez, atrapalhado. Reflectiu um pouco e propôs:
– Suponho que, teoricamente, devemos chamar a Polícia.
– Nanja eu – disse Syme. – Teoricamente devo primeiro deitar-me ao mar. Prometi sob palavra de honra a um desgraçado, que esse era na realidade um pessimista moderno, nada dizer à Polícia. Pouco percebo de casuística, mas não posso quebrar a palavra dada a um pessimista moderno. É o mesmo que não cumprir uma promessa feita a uma criança.
– Eu estou na mesma – declarou o professor –, já quis dizer à Polícia e não pude por causa duma jura idiota que fiz. Compreendem, nos meus tempos de actor era um estupor muito grande. Perjúrio e traição foram os únicos crimes que nunca cometi. Se o fizesse agora ficaria sem saber distinguir entre o bem e o mal.
– Eu também não posso – disse o Dr. Bull. – Prometi ao secretário, conhecem-no, aquele que se ri às avessas. Amigos, aquele homem é o maior infeliz sobre a terra. Será por causa da sua digestão, da sua consciência, dos seus nervos ou da sua filosofia do universo, está condenado, está no inferno! Eu não posso perseguir um homem desses! Seria o mesmo que bater num leproso. Será loucura, mas é o que penso e não há mais nada a fazer.
– Não penso que seja loucura – disse Syme. – Sabia que seria essa a sua atitude quando...
– Quê? – exclamou o Dr. Bull.
– Quando você tirou os óculos.
O Dr. Bull sorriu e passeou pelo convés, olhando para o mar iluminado pelo Sol. Tornou a juntar-se aos companheiros, batendo despreocupadamente os calcanhares um no outro, e entre os três fez-se um silêncio amigo.
– Parece – disse Syme – que temos todos a mesma moral, ou a falta dela, por isso acho melhor encararmos as suas consequências.
O professor concordou:
– Tem toda a razão, e é melhor aviarmo-nos porque já vejo o Nariz Cinzento[1] a projectar-se na costa francesa.
– O caso é este – disse Syme, muito sério: – Somos os três sozinhos neste planeta. Gogol foi-se, sabe-se lá para onde, talvez o presidente o tenha esborrachado como uma mosca. No Conselho somos três, como os romanos que defenderam a ponte. Mas estamos em piores condições, primeiro porque eles podem apelar para a sua corporação e nós não, segundo porque...
– Porque um desses três homens – interrompeu o Professor – não é humano.
Syme fez que sim com a cabeça e, depois de uma pausa, continuou:
– A minha ideia é a seguinte. Temos de fazer de maneira que amanhã ao meio-dia o marquês ainda esteja em Calais. Já revolvi na cabeça mais de vinte planos. Concordámos que não o podíamos denunciar como bombista. Não o podemos mandar prender sob pretexto de um delito trivial, porque teríamos de aparecer, ele conhece-nos e desconfiaria. Não o podemos reter a pretexto de assuntos anarquistas, seria possível fazê-lo engolir muitas patranhas, mas nunca a ideia de ficar em Calais enquanto o czar atravessa Paris com toda a segurança. Poderíamos tentar raptá-lo e prendê-lo em qualquer sítio, mas ele aqui é muito conhecido. Tem com certeza muitos guarda-costas, é muito forte e valente, a tentativa é arriscada e de êxito duvidoso. A única saída que vejo é explorarmos precisamente as circunstâncias que são a favor do marquês. Vou aproveitar-me do facto de ele ser um aristocrata altamente cotado, com muitos amigos, e que frequenta a melhor sociedade.
– Que diabo está você a dizer? – perguntou o professor.
– Os Symes aparecem pela primeira vez no século xvi, mas reza a tradição que um deles combateu ao lado de Bruce em Bannockburn. A partir de 1350 a árvore genealógica é claríssima.
– Perdeu a cabeça – disse o pequeno doutor.
– As nossas armas – continuou Syme na calma – são três cruzes vermelhas em campo de prata. O mote varia.
O professor agarrou Syme pelo colete e sacudiu-o.
– Estamos a chegar a terra. Você está enjoado ou a gracejar fora de propósito?
– As minhas observações são dolorosamente práticas – respondeu Syme com lentidão. – A casa de St. Eustache também é muito antiga. O marquês não pode negar que é um fidalgo. E não pode negar que eu também o sou. Para tirar quaisquer dúvidas que haja acerca da minha posição social, tenciono amarrotar-lhe o chapéu na primeira oportunidade. Mas eis-nos chegados.
Desembarcaram, um tanto atordoados, sob um sol forte. Syme, que tomara agora o comando, como Bull fizera em Londres, levou-os através de uma avenida marginal até chegarem a uns cafés, cobertos de verdura e que deitavam para o mar. Marchava diante deles, bamboleando-se e manejando a bengala como se fosse uma espada. Dirigia-se aparentemente para a extremidade da linha dos cafés quando parou de repente. Com um gesto brusco, ordenou-lhes silêncio e apontou com o dedo enluvado para uma mesa, debaixo de um caramanchão, à qual estava sentado o marquês, cujos dentes brilhavam em contraste com a espessa barba negra, e cuja cara enérgica e cor de bronze, sombreada por um chapéu de palha, se recortava no mar purpúreo.
NOTAS
[1] Cabo Gris Nez. (N.T.)
CAPÍTULO X
O DUELO
Syme, com os olhos a cintilarem como o mar brilhante a seus pés, sentou-se com os companheiros à mesa do café, e mandou vir, impaciente mas satisfeito, uma garrafa de Saumer. Estava, por qualquer razão, muitíssimo bem-disposto. A sua alegria, que já era grande, subia à medida que o Saumer descia, e, passada meia hora, a sua conversa era uma torrente de tolices. Dizia que estava compondo o plano do diálogo que se travaria entre ele e o perigoso marquês, e escrevia-o, desordenadamente, com um lápis. Estava disposto como um catecismo impresso, com perguntas e respostas, que ele recitava com rapidez incrível.
– Aproximo-me. Antes de lhe amarrotar o chapéu, descubro-me. Digo: «O marquês de St. Eustache, não é verdade?» Ele dirá: «O célebre Mr. Syme, segundo creio?» E acrescentará no mais puro francês: «Como está?» Responderei no mais puro cockney: «Oh! sempre na mesma.»
– Cale-se – ordenou o homem dos óculos. – Domine-se e atire esse papel fora. Que vai ao certo fazer?
– Mas era um lindo catecismo – disse Syme, desolado. – Deixe-me lê-lo. Tem apenas quarenta e três perguntas e respostas, e algumas das respostas do marquês são muito espirituosas. Gosto de fazer justiça aos meus inimigos.
– Mas para que serve tudo isso? – perguntou, exasperado, o Dr. Bull.
– Leva-me ao desafio, não percebe? – disse Syme, todo risonho. – Quando o marquês der a trigésima nona resposta, que é...
– Você por acaso já pensou – perguntou o professor, com ponderação – que o marquês talvez não diga todas as quarenta e três respostas que lhe destinou? Nesse caso, creio eu, os seus próprios epigramas talvez pareçam um pouco forçados.
Syme, radiante, deu uma palmada na mesa.
– Mas como isso é verdade, e eu que nunca pensei em tal! Meu caro senhor, a sua inteligência é fora do vulgar. Profetizo-lhe um futuro brilhante!
– Você está bêbedo como um cacho! – disse o doutor.
– Resta apenas – continuou Syme, imperturbável – adoptar outro método de quebrar o gelo (permitam-me a expressão) entre mim e o homem que desejo matar. E, visto que o decorrer de um diálogo não pode ser determinado apenas por um dos comparticipantes (como você observou com tanta perspicácia), a única coisa a fazer é, julgo eu, um deles, enquanto puder, tomá-lo todo a seu cargo.
E dito isto levantou-se, com o cabelo louro voando à leve brisa marinha.
Tocava uma banda num café chantant escondido pelas árvores e uma mulher acabara de cantar. Ao cérebro esquentado de Syme, a música da banda parecia-lhe a do realejo de Leicester Square, a cujo som se erguera uma vez para morrer. Olhou para a mesinha à qual estava sentado o marquês. Este tinha agora dois companheiros, franceses solenes, de fraque e chapéu alto, um deles com a roseta da Legião de Honra, evidentemente gente de elevada posição social. Ao lado daqueles trajos negros, cilíndricos, o marquês, de chapéu de palha e fato leve de Verão, parecia boémio, até mesmo selvagem, mas parecia um marquês. Com a sua elegância animal, olhos desdenhosos, cabeça altiva, podia até dizer-se que parecia um rei. Mas não um rei cristão, antes um déspota acobreado, semigrego, semiasiático, que, nos tempos da escravatura, navegasse na sua galera olhando o Mediterrâneo e os escravos que gemiam aos remos. Era assim, pensava Syme, que o rosto castanho-dourado de um tal tirano se recortaria num fundo de oliveiras verde-escuras e de azul escaldante.
– Vai falar às massas? – perguntou, mal-humorado, o professor, vendo que Syme não se mexia.
Este esvaziou o último copo de vinho transparente.
– Vou – disse, apontando para o marquês e os seus companheiros –, àquelas massas. Aquela assembleia desagrada-me e vou-lhe puxar o nariz feio, grande e cor de mogno.
Dirigiu-se à mesa, rapidamente, mas não muito direito. O marquês, ao vê-lo, franziu de espanto o sobrolho, mas sorriu amavelmente.
– Mr. Syme, não é verdade?
Syme curvou-se.
– E V. Exa. é O marquês de St. Eustache? – disse graciosamente. – Permita-me que lhe puxe o nariz.
Debruçou-se para o fazer, mas o marquês deu um salto para trás, derrubando a cadeira, enquanto os dois cavalheiros do chapéu alto seguravam Syme pelos ombros.
– Esse homem insultou-me! – rugiu Syme, gesticulando para se explicar.
– Insultou-o? – admirou-se o cavalheiro da roseta. – Quando?
– Mesmo agora – afirmou Syme, despreocupado. Insultou a minha mãe.
– Insultou a sua mãe! – exclamou, incrédulo, o outro.
– Pelo menos – disse Syme, cedendo num ponto – a minha tia.
– Mas como poderia o marquês ter insultado mesmo agora a sua tia? – interrogou o segundo cavalheiro, com espanto justificado. – Ele tem estado sempre aqui sentado.
– Foram as suas palavras! – insistiu Syme, ameaçador.
– Eu não falei em nada – declarou o marquês –, excepto acerca da banda. Disse que gostava de ouvir Wagner bem tocado.
– É uma alusão à minha família. A minha tia tocava mal Wagner. É um assunto doloroso, acerca do qual estamos sempre a ser insultados.
– Isto parece-me muito extraordinário – observou o cavalheiro que era décoré, olhando duvidoso para o marquês.
– Asseguro-lhe – disse Syme, inflamado – que toda a conversa estava recheada de alusões sinistras ao fraco da minha tia.
– Mas que tolice! – exclamou o segundo cavalheiro. – Pela minha parte, durante a última meia hora não disse nada senão que gostava de ouvir cantar aquela rapariga de cabelo preto.
– Lá está outra vez! – gritou Syme, indignado. – A minha tia era ruiva.
– Parece-me – declarou o outro – que o senhor procura apenas um pretexto para insultar o marquês.
– Benza-o Deus! – exclamou Syme, virando-se para ele. – Que esperto que o senhor é!
O marquês ergueu-se, com os olhos a faiscarem como o de um tigre.
– Quer provocar-me! – gritou. – Procura bater-se comigo! Por Deus! Nunca ninguém procurou durante muito tempo. Estes cavalheiros talvez queiram ser minhas testemunhas, temos ainda quatro horas de dia, bater-nos-emos esta tarde.
Syme fez uma vénia graciosíssima.
– Marquês, a sua conduta é digna da sua fama e do seu nome. Permita-me que consulte por uns momentos os cavalheiros em cujas mãos me entregarei.
Em três longas passadas juntou-se aos companheiros, e estes, que tinham visto o seu ataque inspirado pelo champanhe e ouvido as suas explicações idiotas, ficaram espantados com o seu ar. Porque agora à volta estava perfeitamente sóbrio, um pouco pálido, e falou-lhes em voz baixa e enérgica.
– Está feito – disse-lhes, rouco –, vou-me bater com a fera. Olhem lá e oiçam bem, não há tempo para conversa. Vocês são as minhas testemunhas e têm de tratar de tudo. Insistam, mas insistam absolutamente, que o duelo tenha lugar amanhã depois das sete, a fim de eu poder evitar que ele apanhe o comboio das 7.45 para Paris. Se perde esse comboio, não chega a tempo para o atentado. Não pode recusar-se a ceder nesse ponto tão pouco importante de tempo e lugar, mas fará o seguinte, escolherá um campo próximo de um apeadeiro onde possa apanhar o comboio. É um grande espadachim e espera despachar-me a tempo, mas eu também não esgrimo mal, e conto aguentá-lo, pelo menos até o fazer perder o comboio. Depois talvez ele me mate para se consolar. Percebem? Óptimo, então vou apresentá-los a uns encantadores amigos meus.
E, levando-os através do terraço, apresentou-os, sob dois nomes muito aristocráticos, de que nunca tinham ouvido falar, às testemunhas do marquês.
Syme tinha por vezes espasmos de grande senso, o que fazia parte do seu carácter. Eram (como ele chamara ao seu impulso acerca dos óculos) intuições poéticas, e chegavam por vezes à exaltação profética.
Neste caso calculara bem a atitude do seu adversário. Quando o marquês soube, pelas suas testemunhas, que Syme só se bateria de manhã, decerto compreendeu que se levantara um obstáculo entre ele e os seus afazeres bombistas na capital. Naturalmente, não podia explicar isto aos amigos, por isso escolheu a solução que Syme previra. Sugeriu às testemunhas que escolhessem um pequeno campo perto da linha férrea e confiou com fatalismo na primeira estocada.
Quando chegou, com o maior dos sangues-frios, ao campo de honra, ninguém adivinharia a sua preocupação pela viagem; de mãos nas algibeiras, chapéu de palha no alto da cabeça, belo rosto bronzeado ao sol. Mas um estranho talvez achasse esquisito que da sua comitiva fizessem parte, além das testemunhas com as espadas, dois criados com uma mala e um cesto com o almoço.
Apesar de cedo, o Sol encharcava tudo com o seu calor, e Syme ficou vagamente surpreendido de ver, entre a erva alta que lhe chegava aos joelhos, tantas flores primaveris, douradas e prateadas.
À excepção do marquês, estavam todos em trajes de cerimónia, sombrios e solenes, com chapéus altos que pareciam panelas. Em especial o doutorzinho, com o acréscimo dos óculos pretos, parecia um cangalheiro de comédia. Syme não podia deixar de notar um contraste cómico entre este cerimonial de enterro e o prado viçoso e brilhante, com flores bravas por toda a parte. Mas, na realidade, este contraste cómico entre os bolbos amarelos e os chapéus negros não era mais que um símbolo do contraste entre os bolbos amarelos e o tenebroso caso. À direita havia um bosquezito, ao longe, à esquerda, a curva longa da via férrea, que ele estava, pode dizer-se, defendendo contra o marquês, de quem era a meta e o caminho da fuga. Em frente, atrás do pequeno grupo dos seus adversários, via, como uma nuvem colorida, um bosque de amendoeiras em flor, que se destacava sobre a linha ténue do mar.
O membro da Legião de Honra, que se chamava Ducroix e era coronel, aproximou-se, com grande cerimónia, do professor e do Dr. Bull e sugeriu que a luta terminasse com o primeiro ferimento grave.
Contudo o Dr. Bull, que fora cuidadosamente instruído por Syme sobre este ponto, insistiu, com grande dignidade e péssimo francês, que devia continuar até um dos contendores ser posto fora de combate. Syme contava poder evitar inutilizar o marquês, e evitar que este o inutilizasse, pelo menos durante vinte minutos, e isso daria tempo a que passasse o comboio para Paris.
– Para um homem de perícia e valor, tão famoso como Monsieur de St. Eustache – disse solenemente o professor –, deve ser indiferente o método adoptado, e o nosso constituinte tem fortes razões para exigir um combate mais demorado, razões essas cuja delicadeza me impede de ser explícito, mas cuja justiça e honorabilidade eu...
– Peste! – exclamou atrás dele o marquês, cujo rosto se toldara. – Acabemos com a conversa e comecemos – e dizendo isto cortou uma flor com uma bengalada.
Syme compreendeu esta impaciência descortês e, instintivamente, olhou por cima do ombro a ver se avistava o comboio. Mas no horizonte não havia qualquer fumo.
O coronel Ducroix ajoelhou e abriu o estojo, do qual tirou um par de espadas gémeas que cintilaram ao sol como duas línguas de fogo branco. Ofereceu uma ao marquês, que a agarrou sem cerimónia, e a outra a Syme, que pegou nela, dobrou-a, balançou-a, com a máxima demora compatível com a dignidade. Depois o coronel tirou outro par de lâminas, ficou com uma, entregou a outra ao Dr. Bull e colocou os contendores nos seus lugares.
Ambos os combatentes tinham tirado os casacos e os coletes, e empunhavam as espadas. As testemunhas postaram-se ao lado da linha de combate, também de espadas desembainhadas, mas ainda sombrios nos seus fraques e chapéus altos. Os duelistas saudaram-se, o coronel disse solenemente «Comecem!» e as duas lâminas tocaram-se e tilintaram.
Quando o choque dos ferros se transmitiu ao braço de Syme, todos os medos fantásticos que tivera no decorrer de tal aventura se lhe varreram da ideia, como os sonhos desaparecem ao acordar na cama. Lembrava-se nitidamente deles e classificava-os como simples ilusões dos nervos, como o medo do professor fora o medo dos acidentes tirânicos de um pesadelo, como o medo do doutor fora o medo do vácuo da ciência. O primeiro fora o velho temor de que acontecesse um milagre, o segundo o temor moderno e mais desesperado de que o milagre se não pudesse dar. Mas via que esses medos eram fantasias, porque agora estava frente a frente com a grande realidade do medo da morte, com o seu senso comum, cru e sem piedade. Sentia-se como um homem que acordasse, na manhã em que ia ser enforcado, de um sonho em que caía a um precipício. Porque assim que vira o sol a brilhar na lâmina do seu antagonista e sentira as duas línguas de aço, vibrante como seres vivos, tocarem-se, reconhecera logo que o seu inimigo era um temível combatente, e que provavelmente soara a sua última hora.
Sentia um valor real e estranho em toda a terra à sua volta, na erva sob os seus pés, sentia o amor à vida em todas as coisas vivas. Quase imaginava que ouvia a erva a crescer, que onde ele estava nasciam e desabrochavam flores novas – flores vermelhas de sangue, doiradas e azuis, cumprindo toda a pompa da Primavera. E quando os seus olhos se desviaram por um instante do olhar calmo e hipnótico do marquês, viram o bosquezito de amendoeiras que se divisava no horizonte. Sentia que, se por qualquer milagre escapasse, estaria pronto a ficar por toda a vida sob aquelas amendoeiras sem desejar mais nada neste mundo.
Mas enquanto a terra, o céu e tudo o resto tinham a beleza viva de uma coisa perdida, a outra metade do seu cérebro estava límpida como cristal, e ele parava a ponta do adversário com uma perícia automática, de que não se supusera capaz. Uma vez a espada do antagonista correu-lhe ao longo do pulso, deixando um rasto de sangue, mas ou não viram isto, ou tacitamente ignoraram-no. Volta e meia ripostava, e por uma ou duas vezes julgou tê-lo tocado; mas, como não viu sangue nem na ponta da lâmina nem na camisa do adversário, supôs ter-se enganado. Seguiu-se o intervalo e a troca de lugares.
Arriscando-se a tudo perder, o marquês, deixando por um instante de fitar o adversário, lançou, por cima do ombro, um olhar para a linha férrea à sua direita. Depois voltou-se para Syme, com o rosto transfigurado como o de um demónio, e começou a bater-se como se tivesse vinte armas. O ataque foi tão rápido e furioso que a espada brilhante parecia uma chuva de flechas faiscantes. Syme não tinha oportunidade de olhar para a linha, mas não precisava de o fazer. Adivinhava a causa do frenesi do marquês: estava à vista o comboio para Paris.
Mas a energia mórbida do marquês foi demasiado longe. Por duas vezes a parada de Syme lhe atirou com a ponta para longe, e à terceira a resposta foi tão rápida que não houve dúvidas sobre o toque. A espada de Syme dobrou-se com o peso do corpo do marquês, no qual se espetara. Syme tinha tanta certeza de que enterrara a lâmina no inimigo como um jardineiro tem ao enterrar a pá na terra. E no entanto o marquês desprendeu-se sem dificuldade e Syme ficou a olhar como um idiota para a ponta da espada. Não estava tinta de sangue.
Fez-se um momento de silêncio absoluto, depois foi Syme que, cheio de curiosidade, se lançou ferozmente sobre o outro. Como calculara de início, o marquês era, de um modo geral, melhor esgrimista do que ele, mas naquele momento parecia distraído e em desvantagem. Lutava desordenada e até debilmente, olhando constantemente para a linha, como se temesse mais o comboio do que a espada. Por seu lado, Syme combatia ferozmente, mas com cautela, com fúria intelectual, desejoso de desvendar o enigma da sua espada sem sangue. Para isso apontava de preferência à garganta e à cabeça. Um minuto e meio depois a ponta entrava no pescoço do adversário, por baixo do queixo. Saiu limpa. Meio louco, lançou outra estocada, e fez o que deveria ser um rasgão sangrento no rosto do marquês. Mas não apareceu nenhum rasgão.
Por um momento o céu de Syme toldou-se de novo com temores sobrenaturais. Por certo que a vida daquele homem estava enfeitiçada. Mas este novo terror espiritual era mais terrível do que a simples confusão mental provocada pela perseguição do paralítico. O professor era apenas um gnomo, este homem era um diabo, talvez fosse o próprio Demónio! Certo é que por três vezes lhe enterrara a espada no corpo e não ficara sinal disso. Ao pensar nisso reagiu, e dentro dele cantou tudo o que tinha de bom, como o vento canta nos topos da árvores. Lembrou-se de tudo quanto na sua aventura era humano, das lanternas chinesas de Saffron Park, do cabelo ruivo da rapariga do jardim, dos marítimos a beberem cerveja junto às docas, dos seus leais companheiros que ali estavam a apoiá-lo. Talvez tivesse sido eleito para, como paladino de todas aquelas coisas frescas e bondosas, cruzar armas com o inimigo de toda a criação. «Afinal – disse para consigo – sou mais que um demónio, sou um homem. Posso fazer uma coisa que o próprio Satanás não pode, morrer», e ao pensar nisto ouviu ao longe o apito, cujo som em breve seria um trovão, do comboio para Paris.
Voltou a combater com ligeireza sobrenatural, como um maometano ansioso pelo Paraíso. À medida que o comboio se aproximava, imaginou ver o povo de Paris a erguer arcos floridos, e tomou parte no ruído crescente e na glória da grande República, cuja porta ele defendia contra o inferno. As sua ideias elevaram-se cada vez mais com o ruído crescente do comboio, que terminou, orgulhosamente, num apito penetrante e prolongado. O comboio parara.
Subitamente, com espanto de todos, o marquês deu um salto para trás, para longe do alcance do adversário, e atirou fora a espada. O salto foi maravilhoso, e mais ainda porque um momento antes Syme lhe mergulhara a espada na coxa.
– Alto! – gritou o marquês, em tom que não admitia desobediência. – Tenho uma declaração a fazer.
– Que sucedeu? – perguntou, espantado, o coronel Ducroix. – Houve alguma irregularidade?
– Há decerto algures uma irregularidade – disse o Dr. Bull, que estava um pouco pálido. – O nosso constituinte já feriu o marquês pelo menos quatro vezes, e ele está na mesma.
O marquês levantou a mão, com um estranho ar de paciência sepulcral.
– Por favor, deixem-me falar, é muito importante. Mr. Syme – continuou, virando-se para o seu adversário –, estamos hoje a combater, se não me engano, porque ontem manifestou o desejo (que eu achei irracional) de me puxar o nariz. Faz-me o favor de o puxar agora, o mais depressa possível? Tenho de apanhar o comboio.
– Protesto contra esta irregularidade! – exclamou, indignado, o Dr. Bull.
– É de facto um caso sem precedentes – disse o coronel Ducroix, mirando atentamente o seu constituinte. – Parece-me que houve um caso (o capitão Bellegarde contra o barão Zumpt) em que a meio do combate se trocaram as armas, a pedido de um dos adversários. Mas o nariz não é uma arma!
– Puxa-me ou não o nariz? – gritou, exasperado, o marquês. – Vamos, vamos, Mr. Syme! Já que o queria fazer, faça-o. Não imagina a importância que isso tem para mim. Não seja egoísta, puxe já! – e inclinou-se ligeiramente, com um sorriso encantador. O comboio para Paris entrou, rangendo e bufando, numa estaçãozinha por trás da colina próxima.
Syme sentiu o que já mais de uma vez experimentara no decorrer destas aventuras, a sensação de que uma onda, horrível e sublime, levantada para o céu, desabava. Movendo-se num mundo de que só compreendia metade, deu dois passos em frente e agarrou o nariz patrício do notável aristocrata. Puxou com força e ficou com ele na mão.
Permaneceu imóvel durante alguns segundos, olhando com solenidade idiota para o apêndice de cartão que tinha entre os dedos, enquanto o sol, as nuvens e os montes arborizados presenciavam a estúpida cena.
Foi o marquês que, em voz alta e radiante, quebrou o silêncio.
– Se a minha sobrancelha esquerda servir a alguém, aqui está. Coronel Ducroix, por favor, aceite a minha sobrancelha, talvez um dia lhe seja útil – e, arrancando gravemente a sobrancelha negra e assírica, que trouxe atrás dela metade da testa bronzeada, ofereceu-a cortesmente ao coronel, que estava mudo e vermelho de fúria.
– Se soubesse – vociferou – que estava servindo de testemunha a um poltrão que se enchumaça para combater...
– Bem sei, bem sei! – gritou o marquês, de cabeça perdida, espalhando pelo campo pedaços da sua pessoa. – Labora num erro, mas eu agora não posso explicar. Já lhe disse que o comboio entrou na estação.
– Pois bem – disse com ferocidade o Dr. Bull –, o comboio há-de sair da estação e não o levará a si. Sabemos muito bem qual a obra diabólica...
O misterioso marquês ergueu as mãos, desesperado. Parecia um espantalho, ali ao sol, com metade do rosto primitivo arrancado e a outra metade a contrair-se por baixo.
– Fazem-me doido! O comboio...
– Não irá no comboio – declarou Syme com firmeza, agarrando na espada.
O estranho personagem virou-se para Syme, e pareceu concentrar-se para um esforço sublime antes de falar.
– Seu idiota, seu asno, seu cabeça de burro, seu imbecil! – gritou sem respirar. – Seu palerma, seu estúpido, seu parvalhão! Seu...
– Não vai no comboio – repetiu Syme.
– E por que raio haveria eu de querer ir no comboio? – berrou o outro.
– Todos nós o sabemos – disse, com severidade, o professor. – Vai a Paris deitar uma bomba.
– Vou a Jericó deitar bichas de rabiar! – gritou o outro, arrancando os cabelos, que descolaram facilmente. – Estão todos com um amolecimento cerebral, não vêem quem eu sou? Julgam que eu queria apanhar aquele comboio? Podiam passar vinte comboios para Paris! Raios partam os comboios para Paris!
– Então que quer? – indagou o professor.
– O que quero? Não apanhar o comboio, mas sim que o comboio não me apanhe, e agora, já está!
– Lamento informá-lo – disse Syme, embaraçado – de que as suas objecções não me impressionam. Talvez se tirar os restos da sua testa original e parte do que foi o seu queixo, se torne mais explícito. A lucidez mental realiza-se de várias formas. Que quer dizer com isso de o comboio o apanhar? Pode ser apenas fantasia literária minha, mas, no entanto, acho que deve ter qualquer significado. Quer dizer tudo e o fim de tudo. Domingo apanhou-nos.
– Apanhou-nos? – repetiu, estupefacto, o professor. – Que quer dizer com isso? Apanhou-nos?
– À Polícia, está claro – disse o marquês, arrancando o resto da máscara.
A cabeça que ficou à vista era loira e bem penteada, vulgar na Polícia inglesa, mas o rosto estava extraordinariamente pálido.
– Sou o inspector Ratcliffe – disse, tão rapidamente que chegou a ser ríspido. – O meu nome é muito conhecido na Polícia e vejo bem que pertencem a ela. Mas se duvidam da minha identidade, tenho o cartão... – e começou a tirar da algibeira um cartão azul.
O professor fez um gesto cansado.
– Por favor, não o mostre. Os que temos chegam para encher um cesto de papéis.
O homenzinho chamado Bull tinha, como muitos que parecem possuir vivacidade ordinária, saídas de bom gosto. Aqui foi decerto ele que salvou a situação. No meio desta extraordinária cena de transfiguração, avançou, com toda a dignidade e responsabilidade de testemunha, e dirigiu-se às duas testemunhas do marquês.
– Cavalheiros, todos nós lhes devemos uma explicação, mas asseguro-lhes que não foram vítimas, como imaginam, de uma brincadeira de mau gosto, ou mesmo de algo de menos digno de homens honrados. Não perderam o seu tempo, porque ajudaram a salvar o Mundo. Não somos bobos, mas sim homens desesperados em guerra contra uma vasta conspiração. Uma sociedade secreta de anarquistas persegue-nos como se fôssemos coelhos, e não se trata de infelizes loucos que, devido à fome ou à filosofia germânica, atirem bombas aqui e acolá. É uma igreja, rica, poderosa e fanática, uma igreja do pessimismo oriental, que tem por ponto de fé destruir a humanidade como se fosse vérmina. Quanto à energia com que nos perseguem, calculam-na pelo facto de sermos obrigados a usar disfarces e fazer destas palhaçadas, de que foram vítimas e de que pedimos nos desculpem.
A testemunha mais nova do marquês, um homem baixo, de bigode preto, fez uma vénia cortês e disse:
– Está claro que aceitamos as desculpas, mas por minha vez lhes peço me desculpem se me recusar a acompanhá-los mais longe nas vossas tribulações, e se me despeço. Não é vulgar ver um distinto concidadão, uma pessoa das nossas relações, desfazer-se aos bocados em pleno campo, e acho que para um dia chega. Coronel Ducroix, não desejo de forma alguma influenciar a sua conduta, mas se sente, como eu, que a nossa presente companhia é um tanto anormal, eu volto para a cidade.
O coronel seguiu-o automaticamente, mas depois cofiou o bigode branco e considerou:
– Eu não vou! Se estes cavalheiros estão metidos num sarilho com bandidos desse quilate, acompanho-os. Lutei pela França, e seria duro não poder lutar pela civilização.
O Dr. Bull atirou o chapéu ao ar, aos vivas, como se estivesse num comício.
– Não faça tanto barulho – disse o inspector Ratcliffe. – Domingo pode ouvir-nos.
– Domingo! – exclamou o Dr. Bull, deixando cair o chapéu.
– Sim – retorquiu Ratcliffe –, pode ser que esteja com eles.
– Com quem? – perguntou Syme.
– Com a gente que veio no comboio.
– O que diz não faz sentido – começou Syme –, mas de facto... Meu Deus! – gritou de súbito, como se viesse ao longe uma explosão. – Se isto é verdade, todos nós que pertencíamos ao Conselho Anarquista éramos contra a anarquia! Éramos todos detectives, à excepção do presidente e do seu secretário particular. Que significa isto?
– Que significa! – replicou o novo polícia, com incrível violência. – Significa que estamos prontos! Você não conhece Domingo? Não sabe que as suas partidas são sempre tão grandes e tão simples que ninguém pensa nelas? Quer alguma coisa mais característica de Domingo do que isto, colocar todos os seus inimigos mais poderosos no Supremo Conselho e depois arranjar as coisas de modo que ele não seja supremo? Digo-lhes isto, ele comprou todas as empresas, capturou todos os cabos telegráficos, tem o domínio de todas as linhas férreas, em especial daquela – e apontou com dedo trémulo para o pequeno apeadeiro. – Tudo lhe obedecia, meio mundo estava pronto a erguer-se à sua voz. Mas havia apenas talvez cinco pessoas que lhe resistiriam, e o demónio coloca-as no Supremo Conselho, a gastarem o tempo a espiar-se uns aos outros. Somos idiotas, e foi ele que planeou todas as nossas idiotices! Domingo sabia que o professor perseguiria Syme através de Londres, e que este viria a França combater comigo. Entretanto combinava grandes massas de capital, apoderava-se de grandes linhas telegráficas, enquanto nós, cinco idiotas, nos perseguíamos uns aos outros como crianças a brincar à cabra-cega!
– E então? – disse Syme, com energia.
– Então – retorquiu o outro, subitamente calmo – encontrou-nos hoje a brincar à cabra-cega num campo de grande beleza rústica e extrema solidão. Provavelmente já domina o Mundo, só lhe falta dominar este campo e os trouxas que nele se encontram. E desde que desejam saber qual a minha objecção à chegada do comboio, vou-lhes dizer. É que neste momento ou Domingo ou o secretário se apearam dele.
Syme soltou um berro involuntário e todos olharam para a estação distante. Na verdade, uma massa considerável de gente parecia deslocar-se na direcção deles. Mas estavam longe de mais para os poderem distinguir.
– Era hábito do extinto marquês de St. Eustache – disse o novo polícia, sacando de um estojo de coiro – trazer sempre consigo um binóculo de teatro. O presidente ou o secretário perseguem-nos com aquela gente. Apanharam-nos num belo local sossegado, onde não teremos tentações de quebrar os nossos juramentos e chamar a Polícia. Dr. Bull, creio que com estes verá melhor do que através dos seus óculos tão decorativos.
Entregou o binóculo ao doutor, que tirou imediatamente os óculos e pôs aos olhos o instrumento.
– Talvez o caso não seja tão mau – disse o professor, um tanto assustado. – São muitos, decerto, mas pode ser que se trate de turistas vulgares.
– Acha que os turistas vulgares – perguntou Bull, vendo pelo binóculo – usam máscaras negras a tapar-lhes metade do rosto?
Syme arrancou-lhe o binóculo das mãos e espreitou por ele. A maioria dos componentes da multidão que avançava pareciam normais, mas era verdade que dois ou três dos que marchavam na frente usavam mascarilhas quase até à boca. Este disfarce era muito completo, em especial àquela distância, e Syme nada pôde concluir das faces rapadas dos homens que vinham conversando à frente. Mas num dado momento todos sorriram e num deles o sorriso foi só de um lado da face.
CAPÍTULO XI
OS CRIMINOSOS PERSEGUEM A POLÍCIA
Syme baixou o binóculo, suspirando de alívio e limpando a testa.
– O presidente não vem com eles, valha-nos isso.
– Mas eles ainda mal se vêem no horizonte – disse, assombrado, o coronel, mal refeito ainda da rápida, se bem que cortês, explicação do Dr. Bull. – Como é possível distinguir o vosso presidente no meio daquela multidão?
– Como distinguiria um elefante branco que viesse com eles! – respondeu, um tanto irritado, Syme. – Como diz, e muito bem, ainda mal se vêem no horizonte, mas se ele lá estivesse... Por Deus! Creio que o chão tremeria.
Depois de um momento de silêncio, Ratcliffe disse, decidido e lúgubre:
– Claro que o presidente não vem com eles. Prouvera a Deus que viesse. É mais provável que, a estas horas, atravesse Paris em triunfo, ou esteja sentado nas ruínas da Catedral de São Paulo.
– Isso é absurdo! – exclamou Syme. – Deve ter acontecido alguma coisa na nossa ausência, mas ele não podia conquistar o Mundo só duma arrancada. É verdade – e franziu a testa, olhando na direcção dos campos distantes, que circundavam o apeadeiro –, é verdade que se aproxima um magote de gente, mas também não é o exército que julga.
– Oh, esses – disse desdenhosamente o novo detective –, não, não são uma grande força, mas digo-lhe com franqueza que estão calculados precisamente para o nosso valor, e, meu rapaz, no universo de Domingo pouco contamos. Ele domina todas as linhas, todos os telégrafos, e considera que liquidar o Supremo Conselho é uma insignificância, uma coisa como um bilhete postal. O secretário particular chega para tratar disso – e cuspiu na erva. Depois virou-se para os outros, austeramente: – Há muito a dizer em favor da morte, mas se alguém prefere a outra alternativa, aconselho-o a seguir-me.
Voltando-lhes as largas costas, dirigiu-se energicamente e em silêncio para o bosque. Os outros olharam por cima dos ombros e viram que a negra nuvem humana abandonava a estação e atravessava, com disciplina misteriosa, a planície. Já viam, a olho nu, nos rostos mais avançados, as manchas negras das máscaras. Voltaram-se e seguiram Ratcliffe, que já chegara ao bosque e desaparecera por entre as árvores cintilantes.
O sol tornara a erva seca e quente. Por isso, ao penetrarem no bosque, sentiram o choque refrigerante da sombra, como nadadores ao mergulharem em poças escuras. O interior do bosque estava repleto de luz fragmentada e de sombras irregulares. Formavam um véu trémulo, lembrando uma projecção cinematográfica. Syme mal podia ver os vultos materiais dos companheiros, devido aos tons de sol e sombra que sobre eles incidiam. Agora aparecia a cabeça de um, iluminada por uma claridade que se poderia atribuir a Rembrandt, enquanto todo o resto desaparecia, e logo a seguir viam-se as mãos fortes e brancas doutro, cujo rosto era o de um negro. O ex-marquês puxara o chapéu de palha para os olhos, e a sombra da aba cortava-lhe a cara em duas, de tal forma que parecia usar uma das mascarilhas dos perseguidores. Esta fantasia espicaçou a imaginação de Syme. Teria ele próprio uma máscara? Haveria na realidade alguém mascarado? Seria alguém alguma coisa? Este bosque enfeitiçado, no qual os rostos humanos se tornavam alternadamente pretos e brancos, no qual os seus vultos cresciam à luz do sol e desapareciam em seguida na noite, este caos de claro-escuro (seguindo-se ao dia claro do exterior) parecia-lhe um símbolo perfeito do mundo em que se movera nos últimos três dias, esse mundo no qual os homens arrancavam as barbas, os óculos, o nariz, e se transformavam noutras pessoas. Aquela trágica confiança em si, que sentira quando julgara ser o marquês um demónio, desaparecera inexplicavelmente, agora que sabia ser o marquês um amigo. Sentia vontade de perguntar, em seguida a todas estas confusões, o que era um amigo e o que era um inimigo. Haveria alguma coisa separada daquilo que parecia ser? O marquês tirara o nariz e transformara-se num detective. Se ele próprio tirasse a cabeça, não se transformaria num elfo? Afinal, não seria tudo como este matagal desconcertante, este bailado de luz e escuridão? Tudo era uma visão, uma visão sempre imprevista e sempre esquecida. Porque, no âmago daquele bosque salpicado pela luz do sol, Gabriel Syme descobrira o mesmo que muitos pintores modernos lá tinham encontrado. Encontrara aquilo a que os modernos chamam Impressionismo, que é outro nome para o cepticismo final que não encontra base no universo.
Assim como um homem com sonhos maus tenta gritar e acordar, Syme tentou, num esforço desesperado, arrojar de si esta última e pior das fantasias. Em duas passadas impacientes alcançou aquele que usava o chapéu de palha do marquês, aquele agora conhecido por Ratcliffe. Numa voz exageradamente alta e alegre, quebrou o silêncio profundo e começou a conversar.
– Posso indagar para onde vamos?
As dúvidas da sua alma haviam sido tão sinceras, que sentiu alegria ao ouvir o companheiro responder com voz humana:
– Temos de atravessar a cidade de Lancy para chegarmos ao mar. Parece-me a região com menos probabilidade de estar ao lado deles.
– Que quer dizer com isso? Eles não podem dominar assim o Mundo. Há certamente muitos trabalhadores que não são anarquistas, e se assim não fosse, certamente simples multidões não poderiam vencer a polícia e os exércitos modernos!
– Simples multidões! – repetiu, trocista, o seu novo amigo. – Com que então você fala de massas e de classe operária, como se fosse disso que se tratasse. Você tem essa ideia fixa e idiota que a anarquia virá dos pobres. Porquê? Os pobres têm sido rebeldes, mas nunca foram anarquistas, têm mais interesse do que quaisquer outros na existência de governos decentes. Quem está verdadeiramente ligado à pátria é o homem pobre; o rico não, esse pode partir no seu iate para a Nova Guiné. Os pobres às vezes repontam por serem mal governados, os ricos têm repontado sempre contra qualquer forma de governo. Os aristocratas foram sempre anarquistas, tem como exemplo as guerras dos barões.
– Tudo isso é muito bonito, como conferência sobre a História da Inglaterra dedicada às crianças, mas ainda não atingi a sua aplicação.
– É serem a maioria dos colaboradores de Domingo milionários americanos e sul-africanos. Por isso domina ele as comunicações, e por isso os quatro últimos paladinos da polícia antianarquista fogem através de um bosque como se fossem coelhos.
– Milionários, compreendo – disse Syme, pensativo. – São quase todos loucos. Mas apoderar-se de alguns velhotes ruins e com manias é uma coisa e apoderar-se de grandes nações cristãs é outra. Apostaria o nariz que tenho na cara (perdoe a alusão) em como Domingo não seria, em parte alguma, capaz de converter um indivíduo são e normal.
– Depende da espécie de indivíduo a que se refere.
– Por exemplo, nunca seria capaz de converter aquele – afirmou Syme, apontando na sua frente.
Tinham chegado a um espaço aberto, iluminado pelo sol, que a Syme pareceu a volta definitiva do seu bom senso, e no meio da clareira estava uma figura que, com uma actualidade quase terrível, bem poderia representar o senso comum. Um robusto campónio francês, queimado pelo sol e manchado de suor, sério, com a seriedade infinita das pequenas tarefas necessárias, cortava lenha com um machado. O seu carro estava perto, já meio cheio de lenha, e o cavalo, que pastava na erva, era como o dono, valoroso sem ser desesperado; como ele, chegava a ser florescente, mas parecia triste. O homem era um normando, mais alto que o comum dos franceses, muito anguloso, e o seu vulto sombrio projectava-se em negro num quadrado de luz solar, como um fresco representando uma alegoria ao trabalho sobre fundo de oiro.
– O Sr. Syme diz – gritou Ratcliffe para o coronel – que este homem, pelo menos, nunca será anarquista.
– O Sr. Syme tem muita razão – respondeu, rindo, o coronel Ducroix –, mais que não seja porque ele tem propriedade a defender. Mas esqueci-me que no vosso país não estais habituados a camponeses ricos.
– Ele parece pobre – disse, duvidoso, o Dr. Bull.
– E é rico precisamente por isso.
– Tenho uma ideia – exclamou o Dr. Bull. – Quanto levará ele por nos dar uma boleia no carro? Esses cães vêm a pé e rapidamente nos distanciaríamos deles.
– Dê-lhe o que for preciso! – declarou Syme, peremptoriamente. – Trago comigo montes de dinheiro.
– Isso nunca! – opôs-se o coronel. – Não lhes terá respeito se não discutirem o preço.
– Oh, se ele regatear! – começou, impaciente, o Dr. Bull.
– Regateia, porque é um homem livre. Você não compreende, ele não apreciaria a generosidade. Não é uma gorjeta que lhe vão dar.
Pareciam já ouvir o ruído dos pés dos seus estranhos perseguidores, mas tiveram de parar e marcar passo enquanto o coronel falava ao lenhador, tagarelando e discutindo como em dia de mercado. Contudo, passados quatro minutos, verificaram que o coronel tinha razão, porque o lenhador acedeu, não com o servilismo vago de um quidam bem pago, mas com a seriedade de um advogado que recebeu os honorários devidos. Aconselhou-os a dirigirem-se a uma pequena estalagem nos montes sobranceiros a Lancy, onde o estalajadeiro, um velho soldado que se tornara devoto com a idade, por certo simpatizaria com eles, e talvez mesmo corresse riscos para os auxiliar. Em vista disso, todos se empilharam em cima dos toros de madeira e desceram aos solavancos a outra encosta, mais íngreme, da mata. O carro, apesar de pesado e desconjuntado, andava depressa e em breve tiveram a sensação inebriante de se distanciarem definitivamente desses, fossem quais fossem, que os perseguiam. Porque, afinal, o enigma de como os anarquistas tinham conseguido todos aqueles adeptos subsistia. Bastara-lhes a presença de um só homem, haviam fugido à vista do sorriso deformado do secretário. De vez em quando Syme olhava para trás, para o exército que os seguia.
À medida que, com a distância, a massa se tornou menor, Syme começou a ver a encosta que a antecedia e dominava, através da qual se deslocava a multidão, negra e formada em quadrado, parecendo uma barata monstruosa. Devido à excelente visibilidade e aos magníficos olhos quase telescópicos, via perfeitamente essa massa de homens. Distinguia-os individualmente, mas aumentava o seu espanto pela maneira como se deslocavam, parecendo um só homem. Pareciam trajar fatos escuros e chapéus vulgares, como a multidão usual das ruas, mas não se dispersavam por várias linhas de ataque, como seria natural numa turba vulgar. Moviam-se com uma espécie de mecânica maldosa e terrível, como um exército de autómatos.
Chamou para isto a atenção de Ratcliffe.
– Isso é disciplina – respondeu o polícia. – É Domingo. Está talvez a quinhentas milhas de distância, mas eles temem-no, como temem Deus. Marcham com regularidade, e aposto que falam e pensam com regularidade. Mas o importante para nós é estarem também desaparecendo com a mesma regularidade.
Syme concordou com a cabeça. Na verdade, a mancha negra dos perseguidores tornava-se cada vez menor à medida que o campónio incitava o cavalo.
O nível da paisagem, apesar de no conjunto ser plano, descia do lado mais afastado da mata, em pregas de grande declive na direcção do mar, parecendo-se um pouco com as encostas das dunas de Sussex. Diferenciava-se porque em Sussex a estrada seria tortuosa e cheia de curvas, junto a um ribeirinho, enquanto aqui a branca rua francesa se desenrolava em frente deles como uma cascata.
O carro desceu aos solavancos, e em breve, depois de o declive se tornar mais áspero, viram lá em baixo o portinho de Lancy e o grande círculo azul do mar. A nuvem móvel de inimigos desaparecera por completo do horizonte.
O carro contornou um grupo de ulmeiros, e o focinho do cavalo quase bateu na cara de um velhote, sentado nos bancos em frente de um pequeno café, Le Soleil d’Or. O camponês grunhiu uma desculpa e apeou-se. Os outros imitaram-no, um por um, e cumprimentaram cortesmente o velho, porque era evidente, pelos seus modos, ser ele o dono da pequena taberna.
Era um velhote de cabelos brancos, rosto maciço, com olhos sonolentos e bigode grisalho, gordo, sedentário e muito ingénuo, de um tipo bastante vulgar em França, mas mais ainda nas regiões católicas da Alemanha.
Tudo nele, o cachimbo, a caneca de cerveja, as flores e a colmeia, sugeria uma paz ancestral, mas, quando as visitas entraram na sala, viram a espada pendurada na parede.
O coronel, que cumprimentou o estalajadeiro como se fosse um velho amigo, passou rapidamente à sala de jantar, sentou-se e mandou vir refrescos. A decisão militar do seu acto interessou Syme, que se sentou junto dele e, quando o velho estalajadeiro se ausentou, aproveitou a ocasião para satisfazer a curiosidade.
– Coronel, permita-me uma pergunta – disse em voz baixa. – Qual a razão por que viemos aqui?
O coronel Ducroix sorriu.
– Por duas razões, meu caro senhor, e vou-lhe primeiro dar, não a mais importante, mas a mais prática. Viemos aqui por ser o único sítio, vinte milhas em redor, onde há cavalos.
– Cavalos! – repetiu Syme, admirado.
– Sim, cavalos. Se querem de facto escapar aos vossos perseguidores, só com cavalos o conseguirão. A não ser, está claro, que tenham motos ou bicicletas nas algibeiras.
– E para onde nos aconselha a ir? – perguntou, duvidoso, Syme.
– Sem a menor hesitação, e o mais depressa possível, à esquadra, que fica para lá da cidade. O meu amigo, a quem servi de testemunha em circunstâncias um tanto estranhas, parece-me exagerar muito as possibilidades de um levantamento geral, mas mesmo ele não dirá, suponho eu, que não estarão em segurança junto dos gendarmes.
Syme acenou gravemente a cabeça e disse:
– E qual a sua outra razão para aqui vir?
– A minha outra razão para aqui vir – respondeu, sobriamente, Ducroix – foi não achar mau ver um ou dois homens bons quando se está, possivelmente, perto da morte.
Syme olhou para a parede e viu um quadro religioso, patético e toscamente pintado. Depois disse:
– Tem razão – e, quase a seguir: – Já alguém tratou dos cavalos?
– Já. Pode estar certo de que dei as minhas ordens assim que entrei. Esses vossos inimigos não davam a impressão de apressados, mas estavam de facto a mover-se com rapidez maravilhosa, como um exército bem instruído. Não julgava que os anarquistas tivessem tanta disciplina. Os senhores não têm um momento a perder.
Quase simultaneamente a esta frase, o velho estalajadeiro de olhos azuis e cabelo branco entrou na sala e anunciou estarem lá fora seis cavalos aparelhados.
Seguindo o conselho de Ducroix, os outros cinco muniram-se de alguma comida e de vinho e, conservando as espadas de duelo como únicas armas ao seu dispor, partiram a galope pela estrada branca e íngreme. Os dois criados, que tinham transportado a bagagem do marquês, quando este ainda era marquês, ficaram, por comum acordo, no café, a beber, o que não lhes desagradou nada.
Por esta altura o Sol da tarde descia no ocidente, e Syme viu, à luz dos seus raios, o vulto robusto do velho estalajadeiro a tornar-se cada vez menor, mas ainda de pé e a segui-lo com o olhar, em silêncio, com o sol a brilhar no cabelo prateado. Veio-lhe uma fantasia, fixa e supersticiosa, induzida pela frase casual do coronel: talvez fosse, de facto, este o último desconhecido honesto que veria sobre a terra.
Olhava ainda para este vulto que desaparecia, já não sendo mais que um ponto cinzento tocado por uma chama branca, recortando-se no fundo verde da encosta. E, enquanto olhava, a crista da duna, por detrás do estalajadeiro, coroara-se de um exército de homens em marcha, vestidos de negro. Pareciam pairar sobre aquele homem bondoso e a sua casa como uma nuvem negra de gafanhotos. Os cavalos tinham sido aparelhados mesmo a tempo.
CAPÍTULO XII
O MUNDO EM ANARQUIA
Incitando as montadas ao galope, sem respeito pelo declive um tanto acentuado da estrada, os cavaleiros em breve recuperaram o seu avanço sobre os homens em marcha, e finalmente os primeiros edifícios de Lancy ocultaram-lhes os perseguidores. A cavalgada, no entanto, fora longa, e quando chegaram ao centro da cidade, o pôr do Sol aquecia o ocidente. O coronel sugeriu que, antes de irem à esquadra, deviam, de passagem, fazer um esforço para se lhes agregar mais um indivíduo, que se podia tornar útil.
– Das cinco pessoas ricas desta cidade – disse ele –, quatro são trampolineiros vulgares, e julgo que pelo mundo fora a proporção é a mesma. O quinto é um amigo meu, e um homem de bem, e, o que para nós é o mais importante, possui um automóvel.
– Receio – disse o professor, olhando para trás, para a estrada branca onde, de um momento para o outro, podia aparecer a mancha negra e rastejante –, receio que não nos sobeje tempo para fazer visitas.
– Daqui a casa do Dr. Renard são só três minutos.
– O nosso perigo – disse o Dr. Bull – não está a dois minutos de distância.
– Se nos apressarmos – declarou Syme –, é natural que o deixemos para trás, pois eles vêm a pé.
– O Dr. Renard tem um automóvel – insistiu o coronel.
– Mas nós talvez não o apanhemos – disse Bull.
– Ele está do nosso lado.
– Mas talvez tenha saído.
– Calem-se! – exclamou subitamente Syme. – Que barulho é este?
Durante um segundo, permaneceram imóveis como estátuas equestres, e durante um segundo, durante dois, três ou quatro segundos, o céu e a terra pareceram igualmente imóveis. Em seguida, ansiosos e atentos, ouviram na estrada aquele ruído indescritível que tem apenas um significado: cavalos!
A expressão do coronel mudou instantaneamente, como se fosse atingido por um raio, que no entanto o deixasse incólume.
– Estamos perdidos – disse com ironia breve e marcial. – Preparem-se para receber a cavalaria!
– Onde terão arranjado cavalos? – perguntou Syme, enquanto incitava, mecanicamente, o seu.
O coronel não respondeu logo, depois afirmou em voz angustiosa:
– Falei com estrita exactidão quando disse ser o Soleil d’Or o único sítio, vinte milhas em redor, onde havia cavalos.
– Não! – exclamou Syme, com violência. – Não acredito que ele o fizesse! Com aquele cabelo branco, não.
– Talvez fosse obrigado – opôs, suavemente, o coronel –, eles devem ser pelo menos uns cem. Vamos ter com o meu amigo Renard, possuidor de um automóvel.
Dizendo isto, virou o cavalo para uma rua lateral, e foi por ela fora com tal velocidade que os outros, galopando já à carga, tiveram dificuldade em seguir a cauda balouçante da sua montada.
O Dr. Renard habitava uma casa alta e confortável, no cume de uma rua íngreme, e, por causa disso, quando os cavaleiros se apearam à sua porta, viram de novo, por sobre os telhados da cidade, a encosta verde do monte, atravessada pela estrada branca. Respiraram fundo ao verem-na ainda deserta e tocaram à campainha.
O Dr. Renard era um homem sorridente, de barba castanha, um bom exemplo daquela classe de profissionais, calados mas muito activos, que a França tem conservado melhor ainda do que a Inglaterra. Quando lhe explicaram o caso, troçou do pânico do ex-marquês e opinou, com o sólido cepticismo dos franceses, ser inconcebível um levantamento geral dos anarquistas.
– A anarquia – disse, encolhendo os ombros – é uma criancice!
– Et ça?! – exclamou subitamente o coronel, apontando por cima do ombro dele. – É criancice, não é?
Todos se voltaram e viram um círculo de cavalaria negra a varrer a crista do monte com ímpeto comparável ao das hordas de Átila. Contudo, apesar da velocidade, toda a formatura se mantinha ordenada, e viam-se as mascarilhas da primeira fileira alinhadas como soldados em parada. Mas, apesar de o núcleo principal ser o mesmo, se bem que movendo-se mais depressa, distinguia-se agora perfeitamente na encosta, como se esta fosse um mapa inclinado, uma alteração sensacional. O grosso dos cavaleiros mantinha-se em bloco, mas muito à frente da coluna cavalgava um homem isolado, incitando freneticamente o solípede com a mão e com a espora. Podia-se até imaginar ser ele, não o perseguidor, mas sim o perseguido. Mas até àquela distância tão grande se conseguia distinguir algo de tão fantástico, de tão indescritível na sua figura, que identificava o secretário.
– Lamento interromper uma discussão erudita – declarou o coronel –, mas pode-nos emprestar o seu automóvel, já, dentro de dois minutos?
– Desconfio que estão todos doidos – disse o Dr. Renard, sorrindo amavelmente –, mas Deus me livre que de algum modo a loucura interfira com a amizade. Vamos à garagem.
O Dr. Renard era um indivíduo sossegado e fabulosamente rico. As suas salas pareciam o Museu de Cluny e possuía três automóveis. Parecia, porém, servir-se muito pouco deles, porque tinha os gostos simples da classe média francesa, e os seus impacientes amigos ao examiná-los levaram algum tempo antes de terem a certeza de que ao menos um funcionasse. Trouxeram este, com certa dificuldade, para a rua, em frente da casa do doutor. Quando saíram da garagem sombria, ficaram sobressaltados ao verem que já caíra o crepúsculo, com a rapidez do anoitecer nos trópicos. Ou se haviam demorado mais do que pensavam ou uma cortina estranha de nuvens cobria a cidade. Olharam para as ruas íngremes e pareceu-lhes ver um leve nevoeiro subindo do mar.
– É agora ou nunca – gritou o Dr. Bull. – Oiço cavalos.
– Um cavalo – emendou o professor.
Continuando a escutar, tornou-se evidente que o ruído, aproximando-se cada vez mais, não era o de toda a cavalgada, mas o de um cavaleiro isolado que se distanciara dos outros.
A família de Syme, como a maioria daqueles que acabam por levar uma vida simples, possuíra em tempos um automóvel, e ele sabia lidar perfeitamente com tais máquinas. Saltou para o assento do condutor e, de rosto afogueado, começou a lutar com os mecanismos fora de uso. Carregou com toda a força numa alavanca e disse calmamente:
– Parece-me que não se consegue nada.
Quando dizia isto, dobrou a esquina, com a velocidade e rigidez de uma seta, um homem hirto sobre o seu cavalo à carga. Um sorriso torcia-lhe o queixo, como se este estivesse deslocado. Passou ao longo do carro parado, onde se amontoava o grupo, e pôs a mão no radiador. Era o secretário, e o entusiasmo do triunfo endireitara-lhe a boca.
Syme carregava com força no volante e o único ruído perceptível era o dos outros perseguidores a entrarem na cidade. Subitamente ouviu-se um berro de metal arranhado e o carro saltou para diante. Atirou com o secretário fora do selim, com tanta limpeza como se arranca uma faca da bainha, arrastou-o umas vinte jardas, enquanto ele esperneava desordenadamente, e deixou-o estendido na estrada, muito distante do cavalo assustado. Enquanto o carro, numa curva magnífica, dobrava a esquina, viram os anarquistas entrar no outro extremo da rua e irem levantar o seu chefe derrubado.
– Não percebo porque escureceu tanto – disse por fim, em voz baixa, o professor.
– Creio que vai trovejar – opinou o Dr. Bull. – É uma pena não termos luz no carro, quanto mais não fosse para ver cá dentro.
– Temos – afirmou o coronel, e levantou do fundo do carro uma lanterna de ferro trabalhado, pesada e antiga, com uma luz no interior. Era evidentemente uma peça de bricabraque, e parecia que o seu uso primitivo fora, de certo modo, religioso, pois num dos lados tinha, toscamente moldada, uma cruz.
– Onde diabo arranjou você isso? – perguntou o professor.
– Onde arranjei o carro – respondeu, rindo, o coronel. – Em casa do meu melhor amigo. Enquanto este nosso companheiro lutava com o volante, subi a correr as escadas da entrada e falei com Renard, que, como se recordam, estava à porta. «Haverá tempo», disse eu, «de arranjar uma lâmpada?» Ele mirou, pestanejando com ternura, o maravilhoso tecto arqueado do seu átrio. Dele estava suspenso, por lindas correntes de ferro, um dos mil tesouros da sua casa. Arrancou do tecto, à força, a lâmpada, rebentando os painéis pintados, e, com a violência, derrubou dois vasos azuis. Depois entregou-me a lanterna e eu pu-la no carro. Tinha ou não razão quando dizia valer a pena conhecer o Dr. Renard?
– Tinha – anuiu Syme, muito sério, pendurando a lanterna na frente do automóvel. O contraste entre o carro moderno e a lanterna, estranha e eclesiástica, simbolizava, de certo modo, a situação deles.
Até então tinham atravessado a parte mais sossegada da cidade, encontrando apenas um ou dois peões, que não lhes podiam dar indícios da paz ou da hostilidade do lugar. Agora, contudo, as janelas das casas começavam a iluminar-se uma a uma, dando uma sensação maior de povoamento e de humanidade. O Dr. Bull virou-se para o novo polícia, que os conduzira na fuga, e permitiu-se um dos seus sorrisos naturais e amistosos.
– Estas luzes alegram-me.
O inspector Ratcliffe franziu as sobrancelhas:
– A mim apenas umas luzes me alegram, e são as da esquadra que vejo do outro lado da cidade. Queira Deus que lá cheguemos dentro de dez minutos.
Todo o esfuziante bom-senso e optimismo do Dr. Bull o abandonaram subitamente.
– Mas que louca tolice! Se imagina, de facto, que os anarquistas são pessoas vulgares, que vivam em casas vulgares, você é mais louco do que eles. Se os atacássemos, toda a cidade combateria por nós.
– Não – disse o outro, com naturalidade e teimosia –, toda a cidade combateria por eles. Veremos.
Enquanto falavam, o professor debruçara-se do carro, excitadíssimo.
– Que barulho é este?
– Os cavalos dos vossos perseguidores, segundo creio – disse o coronel. – Pensava que nos tínhamos visto livres deles.
– Cavalos! – exclamou o professor. – Não, não são cavalos, e não nos perseguem.
Enquanto falava, dois vultos, brilhantes e barulhentos, atravessaram o extremo oposto da rua. Desapareceram num ápice, mas todos viram que eram automóveis, e o professor levantou-se, muito pálido, jurando serem os outros dois carros do Dr. Renard.
– Já lhes disse que eram os dele – repetiu, esgazeado –, e estavam cheios de homens mascarados!
– Isso é absurdo! – exclamou, irritado, o coronel. – O Dr. Renard nunca lhes daria os carros.
– Talvez fosse obrigado – disse, calmamente, Ratcliffe. – A cidade inteira está ao lado deles.
– Ainda acredita nisso? – perguntou, incrédulo, o coronel.
– Em breve todos acreditarão.
Depois de um certo tempo de silêncio embaraçoso, o coronel recomeçou:
– Não, não acredito. É uma tolice. O povo pacato de uma pacífica cidade francesa...
Foi interrompido por um estrondo e por um clarão, que lhe pareceu mesmo junto aos olhos. O carro continuou, deixando atrás de si uma nuvem de fumo branco, e Syme ouviu uma bala assobiar-lhe aos ouvidos.
– Meu Deus! – exclamou o coronel. – Alguém fez fogo sobre nós.
– Não merece a pena interromper a conversa – disse o melancólico Ratcliffe. – Por favor, continue as suas observações, coronel. Falava, parece-me, do povo pacato de uma pacífica cidade francesa.
O atónito coronel não estava em estado de se importar com troças. Rolou os olhos pela rua fora.
– É extraordinário! – exclamou. – Muito extraordinário!
– Um desdenhoso – disse Syme – talvez até lhe chamasse desagradável. Contudo, creio que as luzes naquele campo para além da rua são as da Gendarmerie. Em breve lá chegaremos.
– Não – discordou o inspector Ratcliffe. – Nunca lá chegaremos.
Estivera de pé, olhando atentamente na frente. Sentou-se e alisou o cabelo luzidio com um gesto cansado.
– Que quer dizer? – perguntou, vivamente, Bull.
– Simplesmente isto: nunca lá chegaremos – retorquiu, placidamente, o pessimista. – Vejo daqui duas filas de homens armados a impedirem-nos a passagem. Como disse, a cidade está em armas. Como consolo, resta-me apenas o prazer de ver confirmadas as minhas previsões.
Ratcliffe sentou-se confortavelmente e acendeu um cigarro, mas os outros, excitados, ergueram-se para observar a rua em frente. Vendo que não se decidiam sobre o plano a adoptar, Syme afrouxou o carro e parou-o por fim, junto à esquina de uma travessa que descia, muito íngreme, para o mar.
A maior parte da cidade estava na sombra, mas o Sol ainda não desaparecera por completo e, onde a sua luz quase horizontal conseguia passar, pintava tudo de um dourado abrasador. Os últimos raios do pôr do Sol incidiam sobre aquela rua, vívidos e estreitos, tal como focos de projectores de teatro. Bateram no automóvel dos cinco amigos e iluminaram-no como se fosse um carro a arder. Mas o resto da rua, especialmente as duas extremidades, estava profundamente escuro, e durante alguns segundos não conseguiram ver nada. Depois Syme, que tinha melhor vista, irrompeu num assobio baixo e amargurado e disse:
– É verdade. Uma multidão, um exército ou qualquer coisa no género tapa o fim da rua.
– Se assim é – declarou Bull, impaciente –, não deve ser connosco, é um combate a fingir, ou o aniversário do regedor, ou qualquer outra festa. Não posso, e não quero, acreditar que a população sã e jovial de uma terra como esta passeie com dinamite nas algibeiras. Avance um pouco, Syme, e vamos vê-los.
O carro arrastou-se mais umas cem jardas, e foi então que o Dr. Bull sobressaltou todos soltando uma grande gargalhada.
– Seus patetas! Que lhes dizia eu? Aquela multidão é tão ordeira como uma vaca, e, se o não fosse, estava do nosso lado.
– Como sabe isso? – perguntou o professor, abrindo muito os olhos. – Seu cegueta, não vê quem os dirige?
Todos espreitaram e o coronel, tremendo-lhe a voz, gritou:
– Mas é o Renard!
Havia, de facto, uma fila de vultos sombrios, que não se distinguiam bem, correndo pela rua, mas, suficientemente adiantado para a luz da tarde o iluminar, passeava, sem dúvida alguma, o Dr. Renard, cofiando a longa barba castanha, de chapéu branco e com um revólver na mão esquerda.
– Que idiota tenho sido! – exclamou o coronel. – Claro que o meu velho e querido amigo nos veio auxiliar.
O Dr. Bull torcia-se de riso, volteando a espada com o mesmo à-vontade com que o faria a uma bengala. Saltou do carro e começou a correr, gritando:
– Dr. Renard! Dr. Renard!
Um momento depois Syme imaginou que enlouquecera. Porque o filantrópico Dr. Renard erguera deliberadamente o revólver e disparara duas vezes contra Bull, ecoando os tiros pela rua fora.
Quase simultaneamente, com o levantar de uma nuvem branca devida a esta atroz explosão, levantou-se também uma grande nuvem branca do cigarro do cínico Ratcliffe. Como todos os outros, empalideceu ligeiramente, mas sorriu. O Dr. Bull, o alvejado, e a quem os tiros haviam falhado por pouco, ficou imóvel no meio da estrada, sem dar mostras de medo, depois virou-se lentamente, voltou para o carro, e entrou nele, com o chapéu furado em dois sítios.
– Então – disse lentamente o fumador –, que pensam agora?
– Penso – volveu o Dr. Bull, com precisão – que me encontro no n.º 217 do Edifício Peabody, deitado na cama, e que em breve acordarei sobressaltado, ou, se assim não é, que estou em Hanwell, sentado numa pequena cela almofadada, e que o médico poucas esperanças tem na minha cura. Mas se também quer saber aquilo que não penso, vou-lho dizer. Não penso aquilo que você pensa. Não penso, e nunca pensarei, que a massa do povo seja uma alcateia de reles pensadores modernos. Não, meu caro senhor, sou um democrático, e não creio que Domingo consiga converter um vulgar estivador ou contramestre. Não, eu posso estar doido, mas o género humano não está.
Syme fitou-o, com um ardor cujo significado ele normalmente não tornava perceptível.
– Você é um homem magnífico, capaz de acreditar numa pureza que não é apenas a sua pureza. E tem toda a razão no respeitante ao género humano, aos camponeses e à gente como o velho estalajadeiro. Mas não tem razão quanto a Renard. Desconfiei dele desde o início. É um racionalista e, o que ainda é pior, rico. Quando o dever e a religião forem de facto destruídos, sê-lo-ão pelos ricos.
– Já estão destruídos – opôs o fumador, levantando-se, de mãos nas algibeiras. – Os demónios aproximam-se.
Os outros olharam ansiosamente na direcção do seu olhar sonhador, e viram a multidão, que se concentrara no extremo da rua, avançando para eles, com o Dr. Renard, de barba flutuando ao vento, na frente, a marchar furiosamente.
O coronel saltou do carro, com um berro de indignação.
– Isto é inacreditável! Deve ser um gracejo. Se conhecessem Renard como eu, é o mesmo que chamar bombista à rainha Vitória. Se têm na cabeça alguma ideia acerca do seu carácter...
– O Dr. Bull, pelo menos – disse Syme, sardónico –, tem-na no chapéu.
– Já lhes disse que não pode ser! – gritou o coronel, batendo o pé. – O Renard há-de explicar. Há-de-me explicar, a mim – e avançou.
– Não tenha tanta pressa – disse o fumador, vagarosamente. – Muito em breve ele explicará a todos.
Mas o impaciente coronel, avançando para o inimigo, já não o podia ouvir. O exaltado Dr. Renard ergueu de novo a pistola mas, vendo quem era, hesitou, e o coronel, fazendo gestos frenéticos de reprimenda, chegou junto dele.
– Não vale a pena – afirmou Syme –, não conseguirá nada daquele ateu. Proponho que nos atiremos para cima deles, a ver se os atravessamos, como as balas atravessaram o chapéu do Dr. Bull. Podemos morrer todos, mas ao menos mataremos alguns.
– Não vou nisso – declarou Bull, tornando-se mais ordinário na sinceridade da sua virtude. – Coitados, talvez estejam iludidos. Vejamos o que consegue o coronel.
– Não – disse Ratcliffe, friamente –, a rua à nossa retaguarda também está ocupada. Parece-me que vejo lá outro dos seus amigos, Syme.
Este, virando-se com vivacidade, e olhando para o caminho por onde tinham vindo, viu, na penumbra, um grupo irregular de cavaleiros galopando direito a eles. E viu também, encimando a sela mais adiantada, primeiro o brilho prateado de uma espada, depois, quando o cavaleiro se aproximou mais, o brilho prateado dos cabelos brancos de um velho. Imediatamente, como se não desejasse mais nada senão a morte, virou o carro, com violência devastadora, e lançou-o pela rua íngreme abaixo, direito ao mar.
O professor agarrou-lhe o braço.
– Que diabo aconteceu?
– Caiu a estrela da manhã! – respondeu Syme, enquanto o seu próprio carro mergulhava na escuridão, como se fora uma estrela cadente.
Os outros não compreenderam o que ele disse, mas, quando olharam para trás, viram a cavalaria inimiga a dobrar a esquina e a descer atrás deles a encosta. E, na vanguarda, cavalgava o bom estalajadeiro, corado pelo brilho flamejante da luz da tarde.
O professor levou as mãos à cabeça.
– O Mundo está louco!
– Não – disse o Dr. Bull, com grande humildade –, quem está louco sou eu.
– Que faremos agora? – perguntou o professor.
– Neste momento – respondeu-lhe Syme, com despreocupação digna de um cientista –, creio que vamos esbarrar com um candeeiro.
Palavras não eram ditas e o automóvel parava catastroficamente de encontro a um objecto de ferro. Logo a seguir, quatro homens saíram de rastos de baixo dum caos de metal, e um candeeiro alto e esguio, que se erguera direito na beira da avenida marginal, ficava dobrado e torcido, como um ramo de árvore caído.
O professor esboçou um ligeiro sorriso.
– Ao menos quebrámos qualquer coisa. Sempre é uma consolação.
– Você está-se a tornar anarquista – volveu Syme, enquanto, sempre preocupado com a sua elegância, sacudia o pó do fato.
– Todos estão – disse Ratcliffe.
Conversavam ainda quando viram chegar, num rompante, o cavaleiro dos cabelos brancos e os seus adeptos, enquanto um cordão negro de homens corria, gritando, à beira-mar. Syme agarrou numa espada e prendeu-a nos dentes, entalou outras duas nos sovacos, pegou na quarta com a mão esquerda e, com a lanterna na mão direita, saltou do alto paredão para a praia.
Os outros saltaram atrás dele, levados, como é vulgar, pela decisão do acto, deixando lá em cima os destroços e a multidão.
– Resta-nos uma única esperança – disse Syme, tirando o ferro da boca –, o auxílio da Polícia, que, seja qual for o significado de toda esta loucura, suponho conseguiremos obter. Não podemos chegar à esquadra, porque eles nos impedem a passagem, mas existe, mesmo aqui, um cais ou quebra-mar, que entra pelo mar dentro, e poderemos defendê-lo durante muito tempo, como Horácio defendeu a ponte. Temos de nos aguentar até à chegada dos guardas. Venham comigo.
Seguiram-no pela praia fora e em breve as suas botas pisavam, em vez de areia, pedras largas e planas. Caminharam por uma muralha comprida e baixa, que entrava, por um só ramo, pelo mar sombrio e agitado, e, ao atingirem a extremidade, sentiram-se chegados ao fim da sua história. Voltaram-se e enfrentaram a cidade.
O tumulto transfigurara-a. Uma torrente humana, escura e vociferante, brandindo os braços, de rostos inflamados, gesticulando e olhando para eles, corria ao longo do paredão de onde tinham saltado. Aqui e além archotes e lanternas iluminavam a linha escura, mas, mesmo onde as chamas não iluminavam algum rosto furioso, viam, no mais distante vulto, no mais sombrio gesto, um ódio organizado. Era evidente que todos os homens os amaldiçoavam, e eles não sabiam porquê.
Dois ou três homens, que pareciam pequenos e negros macacos, saltaram, como eles tinham feito, para a praia. Correram por ela fora, enterrando os pés na areia, gritando horrivelmente, e tentaram entrar ao acaso pelo mar dentro. O exemplo foi seguido, e toda aquela massa negra começou a correr e a cair da muralha como se fosse alcatrão.
O condutor dos homens que estavam na praia era o camponês que guiara o carro. Montado num cavalo de carroça, patinhou na espuma e brandiu o machado na direcção deles.
– O camponês! – exclamou Syme. – Desde a Idade Média que não se revolta.
– Agora, nem a Polícia – disse tristemente o professor – conseguirá nada contra esta multidão.
– Tolices! – volveu Bull, desesperado. – Há-de haver ainda alguém humano na cidade.
– Não há – declarou o inspector, pessimista –, os seres humanos em breve se extinguirão. Nós somos os últimos.
– É possível – disse o professor, distraído. E acrescentou, na sua voz sonolenta: – Como é o fim da Burricada?
Nem chama pública, nem privada, se atreve a brilhar
Nem luz humana, nem brilho divino ficaram
Eis que o teu terrível império, Caos, foi restaurado.
A luz apaga-se perante a tua palavra que não cria
A tua mão, grande Anarca, faz cair a cortina
E a escuridão universal tudo cobre.
– Cale-se! – gritou Bull. – Os guardas estão a sair.
De facto, vultos apressados encobriam as luzes baixas da esquadra, e ouviram, na escuridão, o tropel de cavalaria disciplinada.
– Carregam a multidão! – gritou Bull, entusiasmado.
– Não – disse Syme –, formaram ao longo do paredão.
– Empunharam as espingardas! – exclamou Bull, dançando de excitação.
– De facto – confirmou Ratcliffe –, e vão fazer fogo sobre nós.
Palavras não eram ditas, ouviu-se uma prolongada fuzilaria e as balas começaram a cair como granizo, nas pedras em frente deles.
– Os guardas uniram-se a eles! – gritou o professor, batendo na cabeça.
– Estou numa cela almofadada – disse Bull, na calma.
Fez-se um prolongado silêncio, e por fim Ratcliffe, olhando para o mar enfurecido, de cor púrpura acinzentada, observou:
– Que importa quem está louco e quem está no seu juízo? Em breve estaremos todos mortos.
Syme virou-se para ele:
– Perdeu por completo a esperança?
Ratciiffe conservou-se em silêncio durante algum tempo, mas disse enfim, com lentidão:
– Não. É estranho, mas não a perdi por completo. Há uma esperançazinha louca que não consigo tirar da ideia. Temos contra nós o poder de todo o Planeta, e, no entanto, duvido que essa esperançazinha idiota não tenha fundamento.
– Em quê ou em quem espera? – perguntou Syme, com curiosidade.
– Num homem que nunca vi – respondeu o outro, fitando o mar plúmbeo.
– Já sei quem quer dizer – murmurou Syme. – O homem do quarto escuro. Mas, a estas horas, por certo que Domingo já o matou.
– Talvez, mas se assim foi, ele era o único homem que Domingo devia ter dificuldade em liquidar.
– Ouvi a vossa conversa – disse o professor, de costas voltadas. – Também espero com firmeza nesse alguém que nunca vi.
Subitamente, Syme, que parecia cego pelo pensamento introspectivo, virou-se e, como se acordasse de um sonho, gritou:
– Onde está o coronel? Julgava que vinha connosco!
– O coronel? – Sim! – gritou Bull. – Onde diabo está o coronel?
– Foi falar com Renard – disse o professor.
– Não o podemos abandonar no meio daquelas feras – gritou Syme. – Morramos como gentlemen, se...
– Não lastime o coronel – aconselhou Ratcliffe, sorrindo ironicamente. – Ele está à vontade, está...
– Não, não e não! – gritou Syme, frenético. – O coronel, também, não. Nunca o acreditarei!
– Não acredita no que vê? – perguntou o outro, apontando para a praia.
Muitos dos perseguidores tinham entrado na água, e ameaçavam-nos com os punhos, mas o mar estava bravo e não conseguiam chegar ao cais. Contudo, no início da muralha de pedra, viam-se dois ou três vultos começando a andar cautelosamente por ela fora. A luz de uma lanterna iluminou o rosto dos dois mais avançados. Um tinha uma mascarilha negra, e sob ela a boca torcia-se com tal nervosismo que o tufo negro da barba se agitava como um ser vivo e inquieto. O outro era o rosto corado, com bigode branco, do coronel Ducroix. Estavam em animada conferência.
– Também ele se foi – suspirou o professor, sentando-se na pedra. – Tudo se foi. Eu fui-me! Não tenho confiança no meu próprio corpo. Sinto que a minha mão se pode erguer para me agredir.
– Quando a minha mão se erguer – disse Syme –, há-de agredir outro que não eu. – E tomando numa mão a lanterna e na outra a espada, avançou ao longo do cais em direcção ao coronel.
O coronel, ao vê-lo aproximar-se, e como para destruir a última dúvida ou esperança, apontou-lhe o revólver e disparou. O tiro não acertou em Syme, mas foi embater na espada, quebrando-a pelos copos.
Syme, erguendo a lanterna por cima da cabeça, e exclamando «Judas perante Herodes!», bateu com ela no coronel, derrubando-o para cima das lajes. Depois, virou-se para o secretário, cuja boca horrível quase espumava, e levantou alta a lanterna, com um gesto tão autoritário e dominador que o outro ficou, por um momento, como petrificado e teve de o ouvir.
– Vê esta lanterna? – gritou Syme, numa voz terrível. – Vê a cruz nela gravada e a chama que tem dentro? Você não a fez, não a acendeu. Homens melhores, homens capazes de crer e de obedecer, torceram as entranhas do ferro e conservaram a legenda do fogo. Não há uma rua por onde passe, não há um farrapo que vista, que não fosse feito como esta lanterna, pela negação da vossa filosofia porca, digna de ratos. Nada sois capazes de fazer, apenas sabeis destruir. Não destruireis a humanidade, destruireis o mundo. Que isso vos baste. E, no entanto, não destruireis esta velha lanterna cristã, ela vai para onde o vosso império de chimpanzés nunca será capaz de a encontrar.
Bateu com a lanterna na cara do secretário, fazendo-o vacilar, depois, volteando-a duas vezes sobre a cabeça, atirou-a para longe, para o mar, onde caiu como um foguete incandescente.
– Espadas! – gritou Syme, virando o rosto flamejante para os três que o seguiam. – Ataquemos estes cães, porque chegou a nossa hora de morrer.
Os seus três companheiros seguiram-no, de espada na mão. A de Syme estava quebrada, mas ele, derrubando um pescador, arrancou-lhe da mão um cacete. Iam lançar-se sobre o inimigo, e perecer, quando se deu uma interrupção. O secretário, que desde o discurso de Syme estivera agarrado à cabeça, como que estonteado, arrancou subitamente a máscara.
O rosto assim revelado à luz das lâmpadas mostrava mais espanto do que raiva. Ergueu a mão, e disse:
– Deve haver um engano, Sr. Syme, parece-me não compreender a sua situação. Prendo-o em nome da lei.
– Da lei? – admirou-se Syme, deixando cair o pau.
– Certamente! Sou um detective de Scotland Yard – e tirou da algibeira um cartãozinho azul.
– E nós, quem julga você que somos? – perguntou o professor, levantando os braços.
– São, sei-o de certeza, membros do Supremo Conselho Anarquista. Disfarçando-me como um de vós, eu...
O Dr. Bull arremessou a espada ao mar.
– O Supremo Conselho Anarquista nunca existiu. Éramos uma porção de polícias trouxas à espreita uns dos outros. E toda essa boa gente que fez fogo sobre nós imaginava que éramos bombistas! Bem sabia que não me podia enganar acerca da multidão – e sorriu para a enorme massa de gente, que se estendia a perder de vista de ambos os lados. – A gente do povo nunca endoideceu. Sei isso porque também sou do povo. E agora vou para terra pagar bebidas a todos.
CAPÍTULO XIII
A PERSEGUIÇÃO AO PRESIDENTE
Na manhã seguinte, cinco indivíduos, desnorteados mas radiantes, embarcaram em Dover. O pobre coronel podia ter uma certa razão de queixa, pois primeiro fora obrigado a combater por duas facções que não existiam e depois agredido com uma lanterna de ferro; mas, como era um velhote magnânimo e ficara muito aliviado por nenhum dos partidos ter relações com a dinamite, foi, muito bem-humorado, despedir-se deles ao cais.
Os cinco detectives reconciliados tinham centenas de pormenores a explicar uns aos outros. O secretário teve de contar a Syme como se tinham lembrado de usar máscara, a fim de se aproximarem do suposto inimigo fingindo de correligionários; Syme teve de explicar porque tinham fugido com tanta pressa, através de um país civilizado. Mas, acima de todas estas questões de pormenores, que podiam ser aclaradas, erguia-se, sem explicação possível, o foco central de todos aqueles acontecimentos. Que significava tudo aquilo? Se, na verdade, eles eram agentes inofensivos, o que era Domingo? Se não se apoderara do Mundo, que diabo andara ele a fazer? O inspector Ratcliffe ainda estava maldisposto por causa disto.
– Não faço ideia de qual seja o joguinho do velho Domingo, assim como vocês também não. Mas ele pode ser tudo menos um cidadão íntegro. Diabo! Lembram-se da cara dele?
– Asseguro-lhe – respondeu Syme – que nunca consegui esquecê-la.
– Pois bem – disse o secretário –, suponho que o assunto em breve será esclarecido, pois a nossa próxima assembleia geral realiza-se amanhã. Desculpem-me – acrescentou, sorrindo tragicamente – de estar tão bem integrado nos meus deveres de secretário.
– Creio que tem razão – anuiu o professor, depois de reflectir. – Suponho que por ele talvez o saibamos, mas confesso que tenho um certo medo de lhe perguntar quem é ele na realidade.
– Porquê? – perguntou o secretário. – Tem medo das bombas?
– Não, tenho medo que ele me diga.
– Vamos beber – propôs o Dr. Bull, pondo termo a um curto silêncio que se fizera.
Durante toda a viagem, quer no barco, quer no comboio, foram muito sociáveis, mas, instintivamente, nunca se separaram. O Dr. Bull, que sempre fora o optimista do grupo, tentou convencer os outros quatro homens a tomarem, em Vitória, o mesmo hansom2, mas a proposta foi rejeitada, e meteram-se numa carruagem, com o Dr. Bull, a cantar, na boleia. Acabaram a viagem num hotel de Picadilly Circus, a fim de estarem perto de Leicester Square, onde no dia seguinte de manhã cedo se realizava o almoço. No entanto, as aventuras do dia não tinham findado por completo. O Dr. Bull, em desacordo com a proposta geral de irem cedo para a cama, saíra do hotel por volta das onze, para ver e gozar algumas das belezas de Londres. Voltou porém vinte minutos depois, fazendo grande alarido no átrio. Syme, que a princípio tentou acalmá-lo, foi por fim obrigado a ouvir atentamente a sua explicação.
– Já lhes disse que o vi! – gritava, com ênfase, o Dr. Bull.
– Quem? – perguntou, rapidamente, Syme. – O presidente?
– Não é tão mau como isso – respondeu o Dr. Bull, rindo sem necessidade –, não é tão mau como isso. Tenho-o aqui.
– Tem aí quem? – interrogou, impaciente, Syme.
– O cabeludo. O tipo que era cabeludo, Gogol. Ele aqui está – e empurrou pelo ombro aquele jovem que, cinco dias antes, com cabelo vermelho ralo e rosto pálido, saíra do Conselho, o primeiro dos anarquistas fingidos a ser desmascarado.
– Que desejam de mim? – gritou ele. – Expulsaram-me por ser espião!
– Somos todos espiões! – murmurou Syme.
– Somos todos espiões! – confirmou Bull. – Venha beber.
Na manhã seguinte, o batalhão dos seis reunido marchou com firmeza para o hotel de Leicester Square.
– Isto é mais animador – disse o Dr. Bull –, somos seis homens que vamos perguntar a outro quais as suas intenções.
– Creio que não é tão simples como isso – observou Syme. – Segundo a minha opinião, somos seis homens que vão perguntar a outro o que tencionam fazer.
Entraram em silêncio na praça e, apesar de o hotel ficar no lado oposto, viram imediatamente a varanda e um vulto que parecia grande de mais para ela. Estava sentado, só, de cabeça baixa, a ler um jornal. Mas todos os seus conselheiros, que vinham para o depor, atravessaram a praça como se do céu cem olhos os observassem.
Tinham discutido muito qual a atitude a tomar: se deviam deixar Gogol, o desmascarado, de fora e começar diplomaticamente, ou se o deviam levar e provocar imediatamente a explosão. A influência de Bull e de Syme prevaleceu em favor desta última conduta, apesar de, até ao fim, o secretário perguntar porque atacavam Domingo assim tão ferozmente.
– A minha razão é muito simples – disse Syme –, ataco-o ferozmente porque o temo.
Subiram em silêncio a escada escura, na cola de Syme, e chegaram, simultaneamente, à luz radiosa da manhã e à luz radiosa do sorriso de Domingo.
– Magnífico! – disse este. – Muito prazer em os ver a todos. Está um dia lindo. O czar morreu?
O secretário, que por acaso era o primeiro, empertigou-se para irromper com dignidade.
– Não, meu caro senhor – disse, com severidade. – Não houve massacre. Não lhe trago novas de vistas tão repugnantes.
– Vistas repugnantes? – repetiu o presidente, com um alegre sorriso de interrogação. – Refere-se às vistas do Dr. Bull?
O secretário engasgou-se e o presidente prosseguiu, numa espécie de apelo meigo:
– Está claro, todos nós temos as nossas opiniões, e até mesmo os nossos olhos, mas, na verdade, chamá-los repugnantes na presença do interessado...
O Dr. Bull arrancou os óculos e quebrou-os sobre a mesa.
– Os meus óculos são maldosos, mas eu não. Olhe para a minha cara.
– Atrevo-me a dizer que é daquelas que crescem em qualquer, de facto cresce em si. E quem sou eu para discutir com os frutos bravios da Árvore da Vida? Talvez um dia essa cara cresça em mim.
– Não temos tempo para tolices – disse o secretário, intrometendo-se asperamente. – Viemos para saber o significado de tudo isto. Quem é você? Que é você? Porque nos trouxe a todos aqui? Sabe quem é e quem somos? Você é um homem meio louco a brincar aos conspiradores ou um homem inteligente a brincar connosco? Responda-me, já lhe disse.
– Os candidatos – murmurou Domingo – apenas são obrigados a responder a oito das dezassete perguntas do questionário. Segundo percebo, querem que eu lhe diga quem sou, quem são vocês, o que é esta mesa, o que é este Conselho e o que é todo este mundo. Pois bem, irei até ao ponto de rasgar o véu de um dos mistérios. Se querem saber o que são, são um bando de jovens trouxas muito bem-intencionados.
– E você – disse Syme, inclinando-se para diante –, quem é?
– Eu? Quem sou? – rugiu o presidente, erguendo-se lentamente a uma altura incrível, como uma onda monstruosa prestes a arquear-se e a quebrar-se sobre eles. – Querem saber quem eu sou, não é verdade? Bull, você, como homem de ciência que é, pesquise nas raízes dessas árvores e descubra a verdade acerca delas. Syme, você, que é poeta, olhe para essas nuvens matutinas. Mas digo-lhes isto, encontrarão a verdade acerca da mais ínfima das árvores e da mais alta das nuvens antes que descubram a verdade a meu respeito. Compreenderão o mar, e eu serei ainda um enigma, conhecerão as estrelas, e não saberão quem eu sou. Desde o princípio do mundo, todos os homens, reis e sábios, poetas e legisladores, todas as igrejas e todos os filósofos, me perseguiram como um lobo. Mas nunca me apanharam, e os céus ruirão quando isso suceder. Arranjei-lhes uma corrida que valeu o dinheiro e farei o mesmo agora.
Antes que qualquer deles se conseguisse opor, o homem monstruoso saltou – parecia um orangotango – a balaustrada da varanda. No entanto, antes de se deixar cair, elevou-se, como numa trave de ginástica, e, espetando o enorme queixo por cima da balaustrada, disse solenemente:
– Há, no entanto, uma coisa a meu respeito que lhes vou dizer. Sou o homem do quarto escuro que os fez a todos polícias.
E, dito isto, deixou-se cair, ressaltando na pedra como se fora uma enorme bola de borracha, e dirigiu-se, aos pulos, para a esquina do Alhambra, onde chamou uma carruagem na qual se meteu. A sua última afirmação deixara os seis detectives lívidos e aparvalhados, mas, quando ele desapareceu na carruagem, o senso prático de Syme voltou e, saltando da varanda, tão estouvadamente que quase partiu as pernas, chamou outra carruagem.
Acompanhado de Bull, saltou para dentro dela, enquanto o professor e o inspector, o secretário e o extinto Gogol se acomodavam noutras duas, mesmo a tempo de seguir Syme, que voava em perseguição do presidente.
Domingo dirigiu-se, com velocidade medonha, para noroeste. O cocheiro, evidentemente sob a influência de persuasões fora do vulgar, incitava os cavalos a um andamento louco. Mas Syme, que não estava para delicadezas, levantou-se aos gritos de «Agarra que é ladrão», até que magotes de gente começaram a correr ao lado da carruagem, e polícias a parar e a fazer perguntas. Tudo isto influiu no cocheiro do presidente, que, começando a desconfiar, abrandou para o trote. Abriu a janela para falar ao seu passageiro, mas, ao fazê-lo, deixou cair o chicote para diante. Domingo debruçou-se, apanhou-o e arrancou-lho violentamente das mãos. Depois, levantando-se do assento, chicoteou os cavalos e, soltando gritos medonhos, percorreu as ruas como se fosse um ciclone. Rua após rua, praça após praça, transitou este veículo impossível, no qual o passageiro incitava os cavalos e o cocheiro tentava desesperadamente fazê-los parar. As outras três carruagens seguiam-no como (se o termo é aplicável a carruagens) mastins ofegantes. Ruas e lojas passavam como setas a assobiar.
Quando a velocidade era máxima, Domingo, virando-se, espetou para fora da carruagem o seu enorme rosto sorridente, com o cabelo branco a assobiar ao vento, e fez uma horrível careta aos seus perseguidores, como um garoto colossal. Depois, erguendo rapidamente a mão direita, atirou uma bola de papel à cara de Syme e desapareceu. Syme apanhou-a quando, instintivamente, a tentava desviar, e descobriu que se compunha de dois papéis amachucados. Um era-lhe endereçado, o outro ao Dr. Bull, com uma enorme, e receia-se que irónica, lista de letras a seguir ao nome. O endereço do bilhete do Dr. Bull era muito maior do que o texto, que consistia apenas nestas palavras:
Qual a sua opinião «agora» acerca de Martin Tupper?
– Que quererá dizer o velho maníaco? – perguntou Bull, olhando, esgazeado, para as palavras. – O seu que diz, Syme?
A mensagem para Syme era, pelo menos, maior e dizia o seguinte:
Ninguém mais do que eu lamentaria qualquer interferência do arquidiácono. Espero que não chegue a tanto. Mas, pela última vez, onde estão as suas galochas? A coisa vai mal, especialmente depois do que disse o tio.
O cocheiro do presidente parecia ter recuperado um pouco o domínio do cavalo e, ao virar para a Edgware Road, os perseguidores ganharam algum terreno. E aqui deu-se o que pareceu aos aliados uma paragem providencial. O tráfego desviava-se e parava, porque pela rua fora ouvia-se o apito inconfundível de um carro de bombeiros que, semelhante a um raio bronzeado, passou em meros segundos. Mas, apesar da velocidade que o carro trazia, Domingo apeou-se da carruagem, saltou para ele, agarrou-se e içou-se, e foi visto, ao desaparecer na distância, a falar com gestos de explicação para o atónito bombeiro.
– Atrás dele! – rugiu Syme. – Agora não o perdemos, não se pode confundir um carro de bombeiros.
Os três cocheiros, que por um momento haviam vacilado, chicotearam os cavalos e encurtaram ligeiramente a distância entre eles e a presa que desaparecia. O presidente reconheceu esta proximidade chegando-se à retaguarda do carro, onde fez repetidas vénias, atirou beijos com as mãos e finalmente lançou um papel muito bem dobrado para o colo do inspector Ratcliffe. Quando este o abriu, não sem certa impaciência, viu que continha estas palavras:
Fuja imediatamente. Sabe-se a verdade acerca dos suspensórios das suas calças. Um Amigo.
O pronto-socorro dirigiu-se ainda mais para norte, para uma região que eles não conheciam, e correu ao longo de um gradeamento alto e sombreado por árvores. Os seis amigos viram, com espanto mas também com certo alívio, o presidente saltar do carro. Não sabiam, porém, a que atribuir a causa disto, se a um novo capricho, se ao aumento dos protestos dos bombeiros. Contudo, antes que as três carruagens chegassem ao local, já Domingo, parecendo um grande gato cinzento, trepara a grade, saltara para o outro lado e desaparecera no emaranhado da folhagem.
Syme, com um gesto de fúria, mandou parar a carruagem, saltou para o chão e começou também a escalada. Quando já tinha uma perna do outro lado da grade, virou, para os companheiros que o seguiam, o rosto, cuja palidez brilhava na sombra.
– Que será isto aqui? Será a residência do velho demónio? Ouvi dizer que ele tinha uma casa no norte de Londres.
– Tanto melhor – disse com energia o secretário, pondo o pé num apoio. – Vamos encontrá-lo em casa.
– Não, não é isso – declarou Syme, franzindo a testa. – Oiço ruídos horríveis: parecem diabos a rir, a espirrar, a assoar-se!
– Os cães dele a ladrarem, está claro – afirmou o secretário.
– Porque não diz as baratas dele a ladrarem?! – gritou Syme, furioso. – Ou caracóis a ladrarem! Ou gerânios a ladrarem! Já ouviu algum cão ladrar assim?
Levantou a mão, impondo silêncio, e do matagal veio um rugido prolongado, que parecia meter-se sob a pele e gelar os ossos, um rugido baixo e penetrante que fez vibrar o ar em volta deles.
– Os cães de Domingo não hão-de ser cães vulgares – disse Gogol, estremecendo.
Syme saltara para o outro lado e continuava, impaciente, à escuta.
– Oiçam agora. Aquilo não é um cão, seja ele de quem for.
Chegou-lhes aos ouvidos um grito rouco. Parecia um protesto, um clamor, contra dores súbitas, depois, ao longe, como um eco, um som prolongado, nasal, semelhante ao de um trombeta.
– Esta casa deve ser o Inferno! E se o é, vou entrar! – declarou o secretário, e saltou as grades quase de um só pulo.
Os outros, seguindo-o, atravessaram um emaranhado de plantas e arbustos, e chegaram a um caminho. Não havia nada à vista, mas, de repente, o Dr. Bull bateu as palmas.
– Seus burros! É o Jardim Zoológico!
Enquanto procuravam desordenadamente algum indício do seu louco perseguido, veio a correr pelo caminho um guarda, acompanhado por um homem à paisana.
– Veio por aqui? – indagou o guarda.
– Por aqui, o quê? – perguntou Syme.
– O elefante! – gritou o guarda. – Um elefante que enlouqueceu e fugiu.
– Fugiu com um velhote – disse, arfando, o outro desconhecido. – Um pobre velho de cabelos brancos!
– Que espécie de velho? – perguntou Syme, cheio de curiosidade.
– Um velhote muito grande e muito gordo, vestido de cinzento-claro – volveu o guarda.
– Se é esse o velhote, se tem a certeza de que é um velho muito grande e muito gordo, vestido de cinzento, dou-lhe a minha palavra de que o elefante não fugiu com ele, foi ele que fugiu com o elefante. Deus ainda não criou o elefante capaz de o raptar. E, com mil raios, ele ali está!
Desta vez não havia dúvidas. Através de um relvado, a umas duzentas jardas de distância, levando atrás uma multidão que corria e gritava em vão, passava, num andamento tremendo, um enorme elefante cinzento, com a tromba levantada, rígida como a proa de um barco e bramindo como uma trombeta do destino. O animal berrava e espinoteava porque o presidente Domingo, que se lhe encarrapitara no dorso, o espicaçava com um objecto agudo que tinha na mão.
– Parem-no! – gritava a multidão. – Vai sair do jardim!
– É o mesmo que parar uma avalanche! – exclamou o guarda. – Já passou o portão!
Um estrondo e um grito de terror anunciaram que o enorme elefante cinzento derrubara os portões do Jardim Zoológico e corria pela Albany Street como se fosse uma espécie nova e veloz de ónibus.
– Santo Deus! – exclamou Bull. – Não sabia que um elefante podia andar tão depressa. Para não o perdermos de vista, temos de recorrer de novo às carruagens.
Enquanto corriam para a porta por onde desaparecera o elefante, Syme reparou nos animais exóticos, encerrados nas jaulas por onde passavam. Mais tarde achou estranho tê-los visto com tanta nitidez. Lembrou-se em especial de ter visto os pelicanos, com os seus incríveis papos pendentes. Não sabia a razão por que o pelicano era o símbolo da caridade, a não ser, talvez, porque era necessária uma grande dose de caridade para admirar um pelicano. Lembrou-se de um tucano, que consistia unicamente num enorme bico amarelo com um pequeno pássaro agarrado a ele. O conjunto dava-lhe a sensação, com uma intensidade inexplicável, de que a Natureza estava sempre a pregar partidas muito misteriosas. Domingo dissera-lhes que o compreenderiam a ele quando conseguissem compreender as estrelas. «Porque será – pensava – que até os arcanjos compreendem o tucano?»
Os seis infelizes detectives atiraram-se para dentro das carruagens e seguiram o elefante, partilhando do terror que este espalhava pelas ruas. Desta vez Domingo não se voltou, limitando-se a mostrar-lhes as enormes costas indiferentes, e isto enfureceu-os mais ainda do que as troças precedentes. Contudo, pouco antes de chegarem a Baker Street, viram-no atirar uma coisa ao ar, como um garoto faz a uma bola, e tentar de novo apanhá-la. Mas, devido à velocidade a que iam, caiu muito atrás, mesmo junto à carruagem de Gogol, e este, na esperança ténue de que fosse uma pista, ou devido a qualquer outro impulso inexplicável, parou a carruagem para a apanhar. Era um embrulho bastante volumoso, que lhe estava endereçado. Ao examiná-lo, viu, porém, que o volume era devido a trinta e três pedaços de papel em branco, enrolados à volta uns dos outros. Quando rasgou a última capa, encontrou um papelinho com a seguinte missiva:
Na minha opinião a palavra deve ser «cor-de-rosa».
O indivíduo que em tempos se chamara Gogol não disse nada, mas agitou os braços e as pernas como se incitasse um cavalo a redobrar de esforços.
Através de rua após rua, de bairro após bairro, passou o prodígio do elefante corredor, fazendo acorrer a população às janelas e dispersando o tráfego para a esquerda e para a direita. As três carruagens, precedidas por essa publicidade desmedida, perseguiam-no, eram já consideradas como fazendo parte da procissão, talvez o anúncio de um circo. A velocidade era tal que as distâncias se encurtavam incrivelmente, e Syme viu o Albert Hall em Kensington quando julgava estar ainda em Paddington, Através das ruas desertas e aristocráticas da parte sul de Kensington, o passo do animal, mais à vontade, aumentou de cadência, e por fim encaminhou-se para onde a enorme roda de Earl Court se projectava no horizonte. A roda cresceu cada vez mais, até encher o firmamento, como uma roda de estrelas.
O animal venceu as carruagens. Perderam-no ao dobrar várias esquinas, e quando, finalmente, chegaram aos portões da Exposição de Earl Court, viram-se bloqueados. Em frente deles estendia-se uma enorme multidão e, no meio dela, um imenso elefante bamboleava-se, como costumam fazer essas criaturas disformes. Mas o presidente desaparecera.
– Para onde foi ele? – perguntou Syme, saltando para o chão.
– O cavalheiro correu para dentro da Exposição! – disse um funcionário, atrapalhado. Depois acrescentou, em tom ofendido: – É um pândego, esse cavalheiro. Pediu-me para lhe segurar a montada e deu-me isto.
Entregou, com repugnância, um pedaço de papel dobrado, com o seguinte endereço: «Para o secretário do Conselho Central Anarquista».
O secretário, espumando de raiva, abriu e leu o seguinte:
Quando corria uma milha a enguia
O secretário sorria
Quando tentava voar a enguia
O secretário morria.
Provérbio rústico
– Por que raio – começou o secretário – o deixou entrar? É costume virem à sua exposição pessoas montadas em elefantes furiosos? É...
– Olhem! – gritou Syme, de repente. – Olhem para ali!
– Para onde? – perguntou, com violência, o secretário.
– Para o balão cativo! – disse Syme, apontando freneticamente.
– Por que raio hei-de eu olhar para um balão cativo? – perguntou o secretário. – Que tem ele de extraordinário?
– Nada, excepto que não é cativo.
Todos olharam para onde o balão, preso por uma corda, se baloiçava sobre a exposição, parecendo um balão de criança. Um momento depois, a corda, feita em duas, caiu debaixo da barquinha, e o balão, solto, flutuou para longe, com a liberdade de uma bola de sabão.
– Com dez mil demónios! – guinchou o secretário, ameaçando o céu com o punho. – Embarcou nele!
O balão, arrastado por uma rajada de vento, pairou sobre eles, e viram a enorme cabeça branca do presidente a espreitar por cima da borda e a olhá-los com benevolência.
– Deus tenha piedade da minha alma! – disse o professor, com o ar vetusto que nunca conseguia separar do seu rosto emaciado e da sua barba embranquecida. – Deus se amerceie de mim! Parece-me que caiu uma coisa em cima do meu chapéu!
Ergueu a mão trémula e tirou dessa prateleira um pedaço de papel amachucado, que abriu distraído e onde viu desenhado um coração e as seguintes palavras:
A sua beleza não me deixou indiferente. Bolinha de neve.
Após um curto silêncio, Syme disse, mordendo a barba:
– Ainda não estou vencido! Aquele diabo tem de cair algures. Vamos segui-lo!
2 Carruagem pequena, usada em Londres. (N.T.)
CAPÍTULO XIV
OS SEIS FILÓSOFOS
Atravessando os verdes campos, saltando valados floridos, a cerca de cinco milhas de Londres, marchavam laboriosamente seis detectives extenuados. De início o optimista do grupo propusera que continuassem nas carruagens, perseguindo o balão através do Sul da Inglaterra. Mas, como o balão se recusava insistentemente a seguir as estradas, e como os cocheiros também se recusavam, ainda com maior insistência, a seguir o balão, acabou por desistir. Em consequência disto, os infatigáveis, se bem que exasperados, caminheiros atravessaram matagais escuros e palmilharam terras lavradas, até ficarem num estado pior que qualquer vagabundo. As colinas verdes do Surrey assistiram à tragédia e colapso final do admirável fato cinzento-claro com que Syme partira de Saffron Park. Um ramo solto de árvore enfiara-lhe o chapéu até ao nariz, os espinhos tinham-lhe rasgado até aos ombros as abas do casaco, o barro da Inglaterra salpicara-lhe o colarinho. Mas ainda espetava para diante a barba loira, com decisão muda e irada, e ainda fitava a bola de gás flutuante, que à luz do pôr do Sol se assemelhava a uma nuvem.
– Afinal – disse – isto é muito belo!
– É de uma beleza estranha e singular! – anuiu o professor. – Oxalá o maldito saco de gás rebente!
– Eu espero que não – declarou o Dr. Bull. – O velhote podia-se magoar.
– Magoar! – exclamou o vingativo professor. – Magoar! Não se magoará tanto como se eu o apanhar. Bolinha de Neve!
– Não sei explicar a razão, mas não desejo que ele se magoe – retorquiu o Dr. Bull.
– O quê?! – gritou amargamente o secretário. – Você acredita na história de ser ele o nosso homem do quarto escuro? Domingo é capaz de inventar isso e muito mais.
– Não sei se acredito ou não, mas não é isso que quero dizer. Não desejo que o balão do velho Domingo rebente, porque...
– Então – disse Syme, impaciente –, porquê?
– Por ele próprio se parecer tanto com um balão. Lá dessa história de ser ele o mesmo indivíduo que nos deu os cartões azuis não percebo patavina, isso parece tirar o sentido a tudo. Mas, e não me importo que o saibam, sempre simpatizei com o velho Domingo, mau como é. Parece um grande bebé saltitante. Como poderei explicar esta minha estranha simpatia, que no entanto não me impediu de o combater ferozmente? Compreender-me-á se disser que é por ele ser tão gordo?
– Não! – volveu o secretário.
– Parece-me que achei. É por ser tão gordo e ao mesmo tempo tão leve, tal como um balão. Imaginamos sempre que os gordos são pesados, mas ele poderia dançar em competição com uma sílfide. Já sei o que quero dizer: a força moderada mostra-se com violência, a força suprema com leveza. Assemelha-se a um elefante capaz de levantar voo, como se fosse um gafanhoto.
– O nosso elefante – disse Syme, olhando para o céu – foi precisamente o que fez.
– É por isso – concluiu Bull– que gosto do velho Domingo. Não se trata de admiração da força bruta, ou qualquer palermice dessas; sinto uma espécie de alegria no facto, tal como se estivesse a estoirar com boas-novas. Não notaram já, por vezes, isso em dias de Primavera? Sabemos que a Natureza prega partidas, mas, não sei como, esses dias provam que são partidas bem-intencionadas. Eu nunca leio a Bíblia, mas esse trecho, de que alguns se riem, «Porque saltais vós, ó altas montanhas?», é pura verdade. As montanhas saltam, pelo menos tentam fazê-lo... Porque gosto eu de Domingo?... Como dizer?... É por ele ser um saltador tão grande.
Depois de prolongado silêncio, o secretário pronunciou, com voz constrangida:
– Conhecem mal Domingo, talvez por serem melhores do que eu e não conhecerem o Inferno. Eu fui sempre, desde o princípio, um tipo feroz e um tanto mórbido. O homem que vive na escuridão, e que nos nomeou a todos, escolheu-me por ter um olhar louco de conspirador, por o meu sorriso ser torcido e os meus olhos melancólicos mesmo quando estou alegre. Devia haver em mim qualquer coisa que bulia com os nervos desses anarquistas. A sensação que Domingo me deu, quando o vi pela primeira vez, não foi, como a vossa, de vitalidade etérea, mas algo de mais triste e rude da Natureza. Encontrei-o, qual pedaço monstruoso de homem, escuro e disforme, sentado num banco, num quarto sombrio, com persianas castanhas corridas, muito mais deprimente do que a escuridão genial em que vive o nosso amo. Ouviu-me em silêncio, nem sequer se mexeu. Despejei os meus apelos mais apaixonados e fiz-lhe as minhas perguntas mais eloquentes. Depois, após um prolongado silêncio, a coisa começou a tremer e eu atribuí isso a alguma doença. Tremia como se fosse uma geleia, viva e repugnante. Lembrou-me tudo quanto lera acerca dos corpos-base que são a origem da vida, os corpúsculos submarinos e o protoplasma. Parecia o estado final da matéria, o mais disforme e mais repugnante. Aqueles tremores fizeram-me pensar que era ao menos uma consolação um monstro daqueles ser susceptível de sofrimento. Compreendi então que aquela montanha bestial tremia de riso, e o gozado era eu. Pedem-me agora para lhe perdoar? Não é pouco ter-se sido gozado por alguém mais reles e mais forte do que nós.
– Decerto exageram muitíssimo – interveio a voz clara do inspector Ratcliffe – O presidente Domingo, intelectualmente, é um tipo terrível, mas fisicamente não é o fenómeno de feira que vocês pretendem. Recebeu-me, vestido com um fato cinzento, aos quadrados, num quarto bem iluminado pelo Sol. O quarto dele é limpo, os fatos correctos, tudo parece em ordem, o que ele tem de um tanto assustador é ser distraído. Por vezes os seus enormes olhos brilhantes cegam por completo, durante horas esquece-se de quem está com ele. Ora a distracção num homem mau é uma coisa terrível, imaginamos os maus sempre alerta. Não podemos conceber um indivíduo perverso que seja também, honesta e sinceramente, sonhador, porque não podemos imaginar um homem mau só consigo próprio. Um distraído é um bem-intencionado, é um indivíduo que se reparar em nós pede desculpa. Mas já pensaram num distraído que, se nos vir, nos mata? Isso é que esgota os nervos, a abstracção combinada com a crueldade. Os homens já o sentiram por vezes, quando, ao atravessarem florestas selvagens, tiveram a sensação de que os animais eram simultaneamente inocentes e impiedosos: ou não fazem caso ou trucidam-nos. Gostariam de estar, durante dez horas, numa sala com um tigre distraído?
– E você, Gogol? – perguntou Syme. – Que pensa de Domingo?
– Por princípio não penso nele – afirmou Gogol, com simplicidade –, assim como não olho para o Sol ao meio-dia.
– Muito bem, eis uma atitude – observou Syme, pensativo. – Que diz você, professor?
O professor continuou a andar, de cabeça baixa, e não respondeu.
– Acorde, professor! – disse Syme, bem-humorado. – Diga-nos o que pensa de Domingo.
Por fim o professor falou, arrastando as frases.
– Não posso exprimir com clareza o que penso. Ou melhor, nem sequer consigo pensar com clareza. Mas é, mais ou menos, o seguinte: a minha mocidade foi, como sabem, um tanto depravada e libertina; pois bem, quando vi o rosto de Domingo achei-o demasiado grande, como sucedeu a todos vocês, mas também o achei demasiado depravado. O rosto era tão grande que não se podia focar, ou sequer distinguir-lhe os contornos; os olhos estavam tão longe do nariz que não eram olhos; a boca só por si era tão grande que não se podia pensar em mais nada ao mesmo tempo. Tudo isto é muito difícil de explicar.
Depois de uma ligeira pausa, continuou, ainda arrastando a bengala:
– Digamos que foi desta maneira: uma noite, ao passar por uma rua, vi uma lâmpada, uma janela iluminada e uma nuvem conjugarem-se para formar um rosto completo e indescritível. Se houver no céu um rosto semelhante, reconhecê-lo-ei logo. No entanto, depois de andar um pouco mais, descobri que o rosto não existia, que a janela estava a dez jardas de distância, a lâmpada a mil, e a nuvem para além da terra. O rosto de Domingo escapou-se-me, fugiu para todos os lados, como acontece às visões fortuitas. E, por isso, a sua cara fez-me duvidar da existência de qualquer cara. Não sei se a sua, Bull, é de facto uma cara ou uma combinação de perspectivas. Talvez um dos discos negros dos seus óculos diabólicos esteja pertíssimo e o outro a cinquenta milhas de distância. Oh, as dúvidas do materialista não valem um caracol! Domingo ensinou-me a pior e a mais elevada das dúvidas, a dúvida do espiritualista. Sou um budista. Meu pobre e caro Bull, não creio que você tenha de facto uma cara, não tenho fé suficiente para acreditar na matéria.
Syme fitava ainda o globo errante que, avermelhado pela luz da tarde, parecia um mundo mais inocente e mais róseo.
– Já repararam numa coincidência estranha em todas as vossas descrições? – disse. – Todas as vossas opiniões sobre Domingo diferem completamente, e no entanto todos o compararam ao mesmo, ao próprio universo. Bull acha-o semelhante à terra na Primavera; Gogol compara-o ao Sol ao meio-dia; ao secretário lembra-lhe o protoplasma disforme, e ao inspector o abandono das florestas virgens; segundo o professor, é uma paisagem que se transforma. Estranho como isso é, mais estranha ainda é uma ideia esquisita que tenho sobre o presidente, e também penso nele como penso no universo todo.
– Vamos, Syme, mais depressa – disse Bull –, não se importe com o balão.
– A primeira parte de Domingo que vi – prosseguiu Syme lentamente – foram as costas, e, quando as vi, tive a sensação de que ele era o pior homem sobre a terra. O pescoço e os ombros dele eram brutais, como os de um Deus simiesco, o porte da sua cabeça não era humano, parecia o de um boi. De facto, tive logo a ideia, repugnante, de que não era um homem, mas sim uma fera com fatos humanos.
– Continue – insistiu o Dr. Bull.
– Foi depois que sucedeu a coisa estranha. Da rua vira-lhe as costas, quando ele estava sentado na varanda. Quando em seguida entrei no hotel, e o enfrentei, vi-lhe o rosto iluminado pelo Sol. Assustou-me, como sucedeu a todos, mas não porque fosse brutal ou porque fosse mau. Pelo contrário, assustou-me por ser tão belo, tão bom.
– Syme – exclamou o secretário –, você estará doente?
– Era o rosto de um arcanjo de outras eras, julgando com justiça após guerras heróicas. Tinha nos olhos gargalhadas, e caridade na boca. Lá estavam os meus cabelos brancos, os mesmos ombros enormes, cobertos de cinzento, que eu vira por trás. Mas quando o vi por trás tive a certeza de que era um animal, e quando depois o vi pela frente convenci-me de que era um deus.
– Pã – observou o professor, sonolento – era deus e animal.
– Depois, e depois, e sempre – continuou Syme, como se falasse só para si –, tem sido, para mim, esse o mistério de Domingo, e é também isso o mistério do Mundo. Quando vejo aquelas costas horríveis tenho a certeza de que o rosto nobre é apenas uma máscara; quando vejo o rosto, nem que seja por um momento, fico convencido de que as costas são apenas um gracejo. O mal é tão mau, que não podemos imaginar o bem senão como um acaso; o bem é tão bom, que ficamos com a certeza de poder explicar o mal. Mas isto tudo atingiu o paroxismo quando, ontem, corri atrás dele e lhe vi sempre as costas.
– Teve, nessa altura, tempo para pensar? – perguntou Ratcliffe.
– O suficiente para um pensamento medonho. Subitamente obcecou-me a ideia de que aquela nuca, cega e nua, era na realidade o rosto, um rosto horrível e sem olhos, que me fitava! Imaginei que o vulto que fugia na minha frente era na realidade um vulto que corresse para trás e dançasse enquanto corria.
– Horrível! – exclamou o Dr. Bull, tremendo.
– Horrível não exprime bem. Foi, de certeza, o pior momento da minha vida. E no entanto, dez minutos depois, quando ele deitou a cabeça de fora da carruagem e nos fez uma careta, lembram-se?, parecia um palhaço, convenci-me de que era apenas um pai a brincar às escondidas com os filhos.
– A brincadeira está-se a prolongar muito – observou o secretário, mirando com desagrado as botas rotas.
– Oiçam-me – disse Syme, com extraordinária ênfase –, querem que lhes diga qual o segredo do mundo inteiro? É que lhe conhecemos apenas as costas, vemos tudo por trás e parece-nos brutal. Aquilo não é uma árvore, são as costas de uma árvore, aquilo não é uma nuvem, mas sim as costas de uma nuvem. Não vêem que tudo se curva e esconde a cara? Se nós pudéssemos ver de frente...
– Olhem! – exclamou Bull. – O balão desce!
Não havia necessidade de gritar isto a Syme, que nunca tirara os olhos do balão. Viu o grande globo luminoso vacilar, subitamente, no céu, endireitar-se e finalmente afundar-se por trás das árvores, como o Sol ao pôr-se.
O indivíduo chamado Gogol, que mal abrira a boca durante todas aquelas viagens fatigantes, ergueu as mãos, num gesto de desespero.
– Morreu! E agora sei que ele era meu amigo, o meu amigo na escuridão!
– Qual! – resmungou o secretário. – Ele não morre com essa facilidade. Se foi projectado da barquinha, encontrá-lo-emos a rebolar-se e a escoucear no campo, como um poldro brincalhão.
– A bater com os cascos um no outro – disse o professor. – Os poldros fazem isso, e Pã também.
– Pã, outra vez! – exclamou, irritado, o Dr. Bull. – Você pensa que Pã está em todo o lado.
– E está. Na Grécia, quer dizer tudo.
– Não esqueça – observou o secretário, baixando os olhos – que também quer dizer Pânico.
Syme parara, sem prestar atenção à conversa.
– Caiu além – disse secamente. – Vamos segui-lo. – E acrescentou, fazendo um gesto de raiva: – Se ele morreu para nos intrujar! Seria mesmo uma das suas partidas!
Avançou, com energia redobrada e com os andrajos flutuando ao vento, em direcção às árvores distantes. Os outros seguiram-no, mais cépticos e doendo-lhes os pés. E, quase simultaneamente, os seis repararam que não estavam sós no pequeno campo.
Avançava para eles, através da relva, um homem alto, que se apoiava a um comprido bordão, semelhante a um ceptro. Vestia um fato magnífico, mas antiquado, de calção e meia, e com uma cor mal definida, misto de azul, violeta e cinzento, uma cor que se vê nalgumas sombras do arvoredo. O cabelo era cinzento esbranquiçado, e à primeira vista, combinado com o calção e a meia, parecia empoado. O andar era calmo e, se não fora a neve prateada que lhe cobria a cabeça, poder-se-ia tomá-lo por uma das sombras do bosque.
– Senhores – disse –, a carruagem de meu amo espera-vos na estrada.
– Quem é o seu amo? – perguntou Syme, sem se mover.
– Disseram-me que sabíeis o seu nome – respondeu o homem, respeitosamente.
Depois de um pequeno silêncio, o secretário interrogou:
– Onde está essa carruagem?
– Apenas a uns instantes de espera. O meu amo acaba de chegar a casa.
Syme olhou para todos os lados do campo verde onde se encontravam. As sebes, as árvores, tudo parecia vulgar; e no entanto sentia-se como que preso num mundo de fadas.
Mirou o misterioso embaixador de cima a baixo, mas não conseguiu descobrir nada, excepto que a cor do casaco era a das sombras purpúreas e que o rosto tinha exactamente a cor vermelho-dourada do céu.
– Conduza-nos – disse, com brevidade, e, sem mais palavras, o homem do casaco violeta dirigiu-se para uma abertura da sebe, através da qual se viu, subitamente, a mancha branca de uma estrada.
Quando os seis viandantes chegaram a esta artéria, viram-na bloqueada por uma longa fila de carruagens, semelhante à que poderia impedir o acesso a um palacete de Park Lane. Uma fileira de criados magníficos, todos fardados de cinzento e azul, e com uma imponência mais de harmonia em oficiais e embaixadores de um grande rei do que em simples criados de um gentleman, perfilava-se ao longo das carruagens.
Havia nada menos que seis à espera, um para cada componente do bando miserável e esfarrapado. Todos os lacaios usavam espadas (como nos trajos da corte) e, quando os polícias subiram para as carruagens, desembainharam-na e saudaram num relampejar súbito de aço.
– Que significa tudo isto? – perguntou Bull a Syme, ao separarem-se. – Será outra graça de Domingo?
– Não sei – respondeu Syme, recostando-se, cansado, nas almofadas da carruagem. – Mas, se for, é daquelas em que você falou, é bem-intencionada.
Os seis aventureiros tinham passado por muitas peripécias, mas nenhuma os espantou tanto como esta última, por ela ser confortável. Já se tinham habituado a que as coisas corressem com aspereza; agora, subitamente, tornavam-se suaves, e isso desnorteava-os. Não sabiam, nem supunham de longe, para que seriam as carruagens, mas isso não os incomodava. Bastava-lhes que fossem carruagens e, o que é mais, carruagens almofadadas. Não faziam a menor ideia de quem seria o guia, chegava-lhes a certeza de que ele os conduzira até às carruagens.
Durante a travessia da escuridão diáfana do arvoredo, Syme descontraiu-se por completo. Era esta uma das suas características: enquanto podia fazer qualquer coisa, espetava com energia o queixo barbudo; assim que lhe arrancavam das mãos a iniciativa, recostava-se nas almofadas, num colapso absoluto.
Compreendeu, vaga e gradualmente, que a carruagem o levava através de estradas magníficas; que passara os portões de pedra do que poderia ser um parque; que começara a subir lentamente uma colina arborizada, mas que, pela disposição ordenada das árvores, não era um floresta. Depois, como se acordasse lentamente de um sono sadio, começou a sentir prazer em todas as coisas. As sebes pareceram-lhe como deviam ser de facto, muralhas vivas, semelhantes a exércitos humanos, disciplinados, e tanto mais vivos por isso. Viu grandes álamos por trás das sebes, e pensou na alegria que os rapazes têm em trepar às árvores. Em seguida a uma viragem apareceu, subitamente, como uma nuvem alongada do pôr do Sol, uma casa comprida e baixa, acariciada pela luz pálida do ocaso. Mais tarde todos compararam as suas impressões e se questionaram a propósito delas, mas todos concordaram que, por qualquer razão inexplicável, o lugar lhes recordara a própria infância. Havia para todos uma imagem qualquer, fosse este álamo ou aquele carreiro tortuoso, fosse um trecho de pomar ou o feitio de uma janela, de que se lembrariam com mais facilidade do que da própria mãe.
Quando, por fim, as carruagens entraram num pórtico grande, baixo e cavernoso, veio ao encontro deles outro homem, envergando o mesmo uniforme mas com uma estrela prateada no peito cinzento do casaco. Este indivíduo impressionante dirigiu-se a Syme:
– No vosso quarto encontrareis refrescos.
Syme, ainda influenciado pelo sono hipnótico provocado pelo espanto, subiu as grandes escadarias apaineladas, precedido pelo respeitoso criado. Entrou nuns esplêndidos aposentos que, segundo parecia, lhe eram destinados. Impelido pelo seu instinto de elegância, dirigiu-se logo a um comprido espelho, a fim de compor a gravata e alisar o cabelo, e foi então que verificou o estado medonho em que se encontrava – o sangue da ferida provocada pelo ramo corria-lhe pela cara, os cabelos eriçavam-se, como fitas amarelas de ervas incultas, o fato pendia em longos farrapos. Apresentou-se-lhe imediatamente todo o enigma – simplesmente isto, como ali viera parar, como dali havia de sair. Foi então que um criado fardado de azul, nomeado para o seu serviço pessoal, disse, com grande solenidade:
– Preparei a vossa roupa, Sir.
– Roupa! – exclamou, sardónico, Syme. – A única que tenho é esta – e levantou duas longas tiras do fraque, fazendo um movimento como se fosse iniciar um bailado.
– O meu amo comunica-vos que esta noite se realiza um baile de máscaras, e é seu desejo que useis o trajo que preparei. Entretanto, Sir, estão à vossa disposição uma garrafa de Borgonha e faisão frio, que ele espera não recuseis, visto ainda faltarem algumas horas para a ceia.
– Faisão frio é bem bom – comentou Syme, pensativo –, e Borgonha, então, é estupendo. Mas preferia, a qualquer deles, saber que diabo significa tudo isto e que espécie de fato preparou para mim. Onde está ele?
Sobre uma espécie de otomana, de onde o servo a levantou, estava uma comprida veste, cor azul-pavão, no género de um dominó, tendo bordado na frente um grande Sol dourado e salpicada, aqui e além, de crescentes e estrelas flamejantes.
– Vai-se vestir de quinta-feira, Sir – disse o lacaio, afavelmente.
– Vestir-me de quinta-feira! – exclamou Syme, meditabundo. – Não me parece que seja um trajo muito quente.
– Pelo contrário, Sir – retorquiu o outro, com entusiasmo –, é mesmo bastante quente, abotoa até ao queixo.
– Não percebo nada – suspirou Syme. – Acostumei-me durante tanto tempo às aventuras desconfortáveis, que as aventuras cómodas me arrasam. Permita-me, no entanto, que lhe pergunte qual a razão por que, envolto numa túnica salpicada de sóis e luas, me parecerei com quinta-feira. Esses astros, creio eu, também brilham nos outros dias: recordo-me de uma vez ter visto a Lua à terça-feira.
– Perdão, Sir, também lhe é fornecida uma Bíblia – e apontou com dedo respeitoso e firme para a passagem do primeiro capítulo do Génesis, que o perplexo Syme leu. Nela se associava o quarto dia da semana à criação do Sol e da Lua. Aqui, pelo menos, tinham de se haver com um domingo cristão.
– Isto está-se a tornar cada vez mais louco – disse Syme, sentando-se numa cadeira. – Quem é esta gente que fornece faisão frio, Borgonha, túnicas azuis e Bíblias? Fornecem tudo?
– Tudo, Sir – respondeu o criado, com gravidade. – Deseja que o ajude a vestir?
– Ora, abotoe lá o raio da coisa – ripostou Syme, impaciente.
Mas, apesar de fingir desprezar a fantochada, quando envergou a estranha vestimenta azul e ouro sentiu um estranho à-vontade e naturalidade nos movimentos, e, quando reparou que também usaria uma espada, avivou-se-lhe um sonho de criança. Ao sair do quarto, lançou a capa para os ombros, endireitou a espada e avançou com a arrogância de um trovador. Porque estas máscaras não disfarçavam, antes revelavam.
CAPÍTULO XV
O ACUSADOR
Quando Syme chegou ao corredor, viu o secretário, de pé, no topo de uma grande escadaria. Nunca o homem lhe parecera tão nobre. Envolvia-o uma comprida túnica negra, atravessada ao meio por uma larga faixa de um branco puríssimo, como um raio de luz. O trajo tinha um ar de severidade eclesiástica.
Syme lembrou-se logo, sem ter necessidade de rebuscar na memória ou na Bíblia, que no primeiro dia da criação a luz se fizera das trevas. A vestimenta, só por si, teria evocado o símbolo, e notava-se também quão perfeitamente a combinação de negro com branco imaculado exprimia a alma do pálido e austero secretário, com o seu amor desumano pela verdade, e o seu entusiasmo frio, que lhe permitiam, com a mesma facilidade, combater os anarquistas e passar por um deles. Não era de surpreender que, apesar da cordialidade hospitaleira do novo ambiente, o olhar do secretário ainda fosse severo. Não havia cheiro de cerveja capaz de o impedir de ser racional.
Se Syme pudesse ver-se teria compreendido que também ele, pela primeira vez, se parecia consigo próprio e com mais ninguém. Porque, se o secretário representava o filósofo que ama a luz original e sem forma, Syme era o tipo do poeta que procura sempre dar formas especiais à luz, separá-la sempre em Sol e em Lua. O filósofo pode, por vezes, amar o infinito, o poeta ama sempre o finito. Para este, o momento culminante não é o da criação da luz, mas sim o da criação do Sol e da Lua.
Ao descerem juntos a larga escadaria, alcançaram Ratcliffe, vestido de verde primaveril, como um monteiro, e tendo no peito por emblema um emaranhado de árvore verdes. Representava o terceiro dia, no qual a Terra e todas as coisas verdes foram criadas, e isto condizia com o seu rosto bem talhado e sensível, cínico sem deixar de ser amigável.
Atravessaram outro portão baixo e largo e foram dar a um jardim, do tipo inglês antigo, cheio de archotes e fogueiras, à luz dos quais dançava uma enorme multidão, vestida com os trajes mais variados. Pareceu a Syme que todas as formas da Natureza ali estavam representadas pelos trajos mais loucos. Havia um homem vestido de moinho, com umas enormes velas, outro vestido de elefante, outro de balão, e estes dois últimos, juntos, pareciam uma alegoria às aventuras burlescas por que tinham passado. Syme viu mesmo, com certa emoção, um dançarino vestido de tucano, com um bico duas vezes do tamanho do corpo, e recordou-se desse pássaro exótico, que se lhe fixara na imaginação como uma pergunta viva enquanto corria ao longo da comprida rua do Jardim Zoológico.
Havia milhares de casos semelhantes. Havia um candeeiro que dançava, uma macieira que dançava, um navio que dançava. Poder-se-ia julgar que o ritmo indomável de um músico louco fazia todos os objectos vulgares do campo e da rua dançarem um bailado eterno. Muito mais tarde, já Syme era de certa idade, não podia ver um desses citados objectos – um moinho, uma macieira, um candeeiro – sem pensar que era um folião desgarrado daquela louca mascarada.
Num dos lados do jardim cheio de dançarinos, havia uma espécie de estrado verde, semelhante aos terraços que existem em jardins antiquados como aquele.
Ao longo do estrado, e formando um crescente, estavam sete cadeiras, os tronos dos sete dias. Gogol e o Dr. Bull já ocupavam os seus lugares, e o professor subia para o seu. A simplicidade de Gogol, ou antes, de Terça-Feira, estava bem simbolizada por um trajo que representava a divisão das águas – uma túnica cinzenta e prata, que se apartava na testa e caía até aos pés, como uma cortina de chuva. O professor, cujo dia era aquele em que os peixes e as aves – as formas mais rudimentares da vida – tinham sido criados, usava uma veste púrpura pálida, sobre a qual se espalhavam peixes de olhos esbugalhados e exóticos pássaros tropicais, a conjunção que havia nele da fantasia inesgotável e da dúvida. O Dr. Bull, o último dia da criação, usava um casaco coberto de animais heráldicos, vermelhos e dourados, tendo no peito o desenho de um homem rompante. Recostava-se na cadeira, sorrindo muito, a imagem perfeita de um optimista no seu elemento.
Os aventureiros subiram ao estrado, um por um, e sentaram-se nos seus estranhos sólios. À medida que cada um se sentava, a assistência saudava-o com gritos de entusiasmo, semelhantes aos de multidões dando as boas-vindas aos seus soberanos. Entrechocavam-se taças, agitavam-se archotes e lançavam-se ao ar chapéus emplumados. Os homens a quem aqueles lugares se destinavam eram indivíduos coroados por quaisquer louros extraordinários. Mas a cadeira central estava vazia.
Syme sentava-se à esquerda dela e o secretário à direita. Este debruçou-se sobre o trono vazio e disse em voz baixa:
– Não sabemos ainda se ele não terá ficado morto no campo.
Syme, quase ao mesmo tempo que ouvia estas palavras, viu, no mar de caras à sua frente, uma alteração terrível e maravilhosa. Parecia que o céu se abrira por detrás da sua cabeça.
Mas Domingo passara pela frente, silenciosamente, como uma sombra, e sentara-se na cadeira central. Envolvia-o, com simplicidade, uma túnica de um branco puríssimo e terrível, e o seu cabelo parecia uma auréola de chama prateada.
Durante muito tempo – pareceram horas –, aquela imensa mascarada da humanidade espinoteou e oscilou diante deles ao som de uma música marcial e exultante. Cada par era um romance distinto – fosse uma fada dançando com uma caixa de correio ou um camponês dançando com a Lua –, mas cada caso, de per si, sendo tão absurdo como Alice no País das Maravilhas, era também tão sério e tão meigo como uma história de amor.
Por fim, contudo, a enorme multidão começou a espraiar-se. Os pares passeavam pelas ruas do jardim ou aproximavam-se da extremidade do edifício, onde fumegavam, em enormes panelas, misturas quentes de cerveja velha e de vinho, que rescendiam. Por cima de tudo isto, sobre uma espécie de armação negra erigida no telhado da casa, ardia, num cesto de ferro, uma gigantesca fogueira, que iluminava a terra por milhas em redor. Espraiava o efeito familiar da lareira sobre vastas florestas de sombras, e parecia aquecer as próprias camadas superiores da noite. Mas até esta fogueira, passado algum tempo, abrandou, e os grupos difusos juntaram-se cada vez mais em torno dos grandes caldeiros, ou passaram, rindo e conversando, para o interior do velho solar. Em breve havia no jardim apenas uns dez retardatários, pouco depois apenas quatro. Finalmente, o último folião entrou a correr na casa, gritando para os companheiros. O fogo apagou-se e as estrelas, fortes e lentas, apareceram. E os sete homens estranhos ficaram sós, como sete estátuas de pedra assentes nos seus tronos de pedra. Nenhum dissera palavra.
Pareciam não ter pressa de fazê-lo, e ouviram, em silêncio, o zumbido dos insectos e o canto distante de um pássaro. Por fim Domingo falou, mas num tom tão sonhador que mais parecia estar a continuar do que a iniciar uma conversa.
– Comeremos e beberemos mais tarde. Conservemo-nos juntos durante algum tempo, nós que nos amámos tão tristemente e nos combatemos tanto. Pareço recordar-me apenas de séculos de guerras heróicas, nas quais vós fostes sempre os heróis, epopeia após epopeia, Ilíada após Ilíada, e vós sempre irmãos de armas. Fosse apenas recentemente (pois o tempo é nada) ou no início do Mundo, enviei-vos a guerrear. Sentava-me na escuridão, onde não existe ser criado algum, e era apenas uma voz, ordenando-vos valor e virtudes sobrenaturais. Ouvistes a voz na escuridão e nunca mais a haveis tornado a ouvir. O Sol no firmamento negava-a, o céu e a terra negavam-na, toda a sabedoria humana a negava. E, quando vos encontrei à luz do dia, eu próprio me neguei.
Syme agitou-se na cadeira, mas, fora isso, o silêncio era absoluto, e o incompreensível continuou:
– Mas sois homens. Não vos esquecestes da vossa honra, se bem que todo o Cosmos se transformasse numa máquina de tortura para vo-la arrancar. Sei quão perto estivestes do Inferno; sei como vós, Quinta-Feira, cruzastes armas com el-rei Satanás, e como vós, Quarta-Feira, me haveis invocado numa hora sem esperança.
Reinava silêncio absoluto no jardim iluminado pelas estrelas, quando o implacável secretário se virou para Domingo e lhe disse, com aspereza:
– Quem sois?
– Eu sou o Sabath – respondeu o outro, sem se mover. – Eu sou a paz de Deus.
O secretário levantou-se, amarrotando com as mãos a rica vestimenta.
– Compreendo o que quereis dizer, e é precisamente isso que não vos posso perdoar. Sei que sois o contentamento, o optimismo, aquilo a que chamamos a derradeira reconciliação. Pois bem, eu não me sinto reconciliado. Se éreis o homem do quarto escuro, porque éreis também Domingo, uma ofensa para a luz do Sol? Se fostes desde o princípio o nosso pai e o nosso amigo, porque fostes também o nosso maior inimigo? Chorámos, fugimos aterrorizados, o ferro penetrou nas nossas almas, e vós éreis a paz de Deus! Posso perdoar a Deus a sua ira, se bem que ela tenha destruído nações, mas não lhe posso perdoar a sua paz.
Domingo não respondeu, e virou lentamente para Syme o rosto petrificado, como para fazer uma pergunta.
– Não – disse este –, não me sinto assim tão feroz. Estou-vos grato, não só pelo vinho e pela hospitalidade que aqui nos dais, mas também por muitas e belas lutas e aventuras. Mas gostaria de saber. A minha alma e o meu coração sentem-se tão felizes e sossegados como este velho jardim, mas a minha razão ainda chora. Eu gostaria de saber.
Domingo olhou para Ratcliffe, cuja voz clara disse:
– Parece tão disparatado que estivésseis dos dois lados e vos houvésseis combatido a vós próprios!
Bull pronunciou:
– Não compreendo nada, mas sinto-me feliz. De facto, parece-me que vou dormir.
– Eu não me sinto feliz – afirmou o professor, com a cabeça enterrada nas mãos –, porque não compreendo. Haveis-me deixado aproximar demasiado do Inferno.
Depois falou Gogol, com a simplicidade de uma criança.
– Gostaria de saber porque me sinto tão dorido.
Domingo continuou silencioso, repousando o enorme queixo na mão e fitando a distância. Por fim disse:
– Ouvi por ordem as vossas queixas. E eis, julgo eu, outro que vem queixar-se e a ele também o ouviremos.
A chama decadente da enorme fogueira lançava por sobre a relva difusa um último clarão, que parecia uma barra de oiro incandescente. Sobre esta faixa de fogo projectava-se a sombra das pernas de um vulto vestido de escuro, que avançava na direcção deles. Parecia usar um fato muito justo, de calção e meia, como o dos servos da casa, com a diferença de não ser azul mas sim negro. Como os criados, também, pendia-lhe da cinta uma espécie de espada. Só quando ele estava já muito próximo do estrado e ergueu o rosto para fitar os sete é que Syme reconheceu, com assombro, tratar-se do rosto largo, quase simiesco, do seu velho amigo Gregory, com o seu cabelo ruivo e o seu sorriso insolente.
– Gregory! – balbuciou Syme, erguendo-se um pouco da cadeira. – Mas este é o verdadeiro anarquista!
– Sim – disse Gregory, com calma perigosa e ameaçadora –, sou o verdadeiro anarquista.
– E houve um dia – murmurou Bull, que parecia, na realidade, adormecido – em que os filhos de Deus compareceram perante o seu Senhor, e com eles vinha também Satanás.
– Tendes razão – exclamou Gregory, olhando em redor. – Sou um destruidor; se pudesse, destruiria o Mundo.
Um sentimento de piedade, que vinha de muito para além da terra, comoveu Syme, e fê-lo dizer, aos sacões e sem sequência:
– Ó mais desafortunado dos homens, tente ser feliz! Você tem cabelo ruivo como a sua irmã.
– Os meus cabelos, quais chamas rubras, queimarão o Mundo. Julgava odiar tudo mais do que é possível a um homem normal, mas descobri que não há nada que odeie tanto como o odeio a si.
– Eu nunca o odiei – disse Syme, com tristeza.
Foi então que daquela criatura incompreensível irrompeu a derradeira tempestade.
– Você! Você nunca odiou porque nunca viveu. Conheço-os bem a todos, do primeiro ao último, sois os homens no poder! Sois a Polícia, esses indivíduos gordos e sorridentes, fardados de azul e com botões dourados! Sois a Lei, e nunca fostes quebrados! Mas existirá alguma alma livre que não vos deseje quebrar, só porque nunca o fostes? Nós, os revoltados, dizemos, sem dúvida, muita tolice acerca destes e daqueles crimes do Governo. É tudo uma loucura! O único crime do Governo é governar; o crime imperdoável do poder supremo é o ser supremo. Não vos amaldiçoo por serdes cruéis, não vos amaldiçoo (se bem que o pudesse) por serdes carinhosos, amaldiçoo-vos por estardes em segurança. Sentais-vos nas vossas cadeiras de pedra e nunca delas haveis descido, sois os sete anjos do céu e nunca haveis tido preocupações. Poder-vos-ia perdoar tudo, a vós que dominais a humanidade, se soubesse que havíeis sofrido durante uma hora uma agonia semelhante à minha...
Syme levantou-se dum salto, tremendo da cabeça aos pés.
– Agora compreendo tudo, tudo quanto existe! Por que razão tudo na terra se combate mutuamente? Por que razão não há neste Mundo ser algum, por pequeno que seja, que não tenha de lutar contra o próprio Mundo? Porque tem uma mosca, uma borboleta, de lutar contra todo o universo? Pela mesma razão por que eu tive de estar só no horrível Concílio dos Dias, a fim de que tudo quanto obedece à lei possa conhecer a glória e o isolamento do anarquista; a fim de que todos quantos lutam pela ordem possam ser tão bons e valorosos como os bombistas; a fim de que a verdadeira mentira de Satanás possa ser lançada ao rosto deste blasfemador, a fim de que, através de lágrimas e de torturas, mereçamos o direito de dizer a este homem: «Mentis!» Não há agonias grandes de mais quando se adquire o direito de dizer a este acusador: «Nós também sofremos.» Não é verdade que nunca tivéssemos sido quebrados, fomo-lo, e sobre a roda. Não é verdade que nunca tivéssemos descido destes tronos, descemos até ao Inferno. Queixávamo-nos de misérias inesquecíveis no momento em que este homem apareceu para nos acusar insolentemente de sermos felizes. Repilo a calúnia, nós não temos sido felizes. Posso responder por cada um dos guardiões da lei a quem ele acusou. Pelo menos...
Virara a cabeça, e viu, subitamente, o enorme rosto de Domingo, que sorria estranhamente.
– E vós – gritou com horror –, vós já haveis sofrido?
Enquanto fitava o enorme rosto, este tornou-se descomunal, maior ainda que a colossal máscara de Mémnon, que, em criança, o fazia gritar. Tornou-se cada vez maior, encheu o firmamento, depois tudo escureceu. Mas, vinda da escuridão, antes que esta lhe destruísse por completo o cérebro, pareceu-lhe ouvir uma voz distante, murmurando um lugar-comum, que ele já ouvira algures: «Sereis capaz de beber da mesma taça de que eu bebi?»
* * *
Quando as personagens dos livros acordam de uma visão, em geral encontram-se em qualquer sítio onde poderiam ter adormecido, espreguiçam-se numa cadeira ou erguem-se de um campo, com o corpo dorido. Se nos acontecimentos por que Syme passara houve de facto qualquer coisa de irreal, psicologicamente a sua aventura foi ainda mais estranha. Porque, enquanto se lembrava perfeitamente de ter perdido os sentidos perante o rosto de Domingo, não se recordava de ter voltado a si. Lembrava-se apenas que tomara conhecimento, lenta e gradualmente, de que estava, e estivera, a passear pelo campo com um companheiro simpático e bom conversador. Esse companheiro fizera parte do seu recente drama, era Gregory, o poeta ruivo. Falavam como se fossem velhos amigos e estavam no meio de uma conversa sobre qualquer banalidade. Mas o que Syme sentia era uma alegria pouco natural no corpo e uma simplicidade cristalina no cérebro, e isso parecia-lhe superior a tudo quanto dizia ou fazia. Sentia-se na posse de boas-novas impossíveis, que transformavam tudo o mais em trivialidades, mas trivialidades adoráveis.
A madrugada começava a cobrir tudo de cores límpidas e tímidas, como se a Natureza hesitasse entre o amarelo e o cor-de-rosa. Soprava uma brisa tão límpida e tão suave, que não era de crer que proviesse da atmosfera mas sim de um orifício no firmamento. Syme ficou surpreendido quando viu surgirem em torno dele, de ambos os lados da estrada, os edifícios vermelhos e irregulares de Saffron Park. Não imaginava ter-se aproximado tanto de Londres. Caminhou, instintivamente, ao longo de uma estrada branca, na qual pássaros madrugadores saltitavam e cantavam, e achou-se junto a um jardim rodeado por uma paliçada. Nele viu, colhendo lilases, com a seriedade inconsciente das raparigas, a irmã de Gregory, a rapariga do cabelo vermelho-dourado.
G.K. Chesterton
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















