



Biblio VT




A faina na praça do castelo também se tornou desnecessariamente mais difícil (no sentido de que a construção não se beneficiou em nada com o trabalho inútil), porque logo no lugar onde, segundo os planos, deveria ficar o burgo, a terra era solta e arenosa e teve de ser literalmente socada para formar a grande peça abobadada e redonda. Para essa obra eu dispunha apenas da testa. Com a testa, então, corri de encontro à terra durante dias e noites, milhares de vezes, e fiquei feliz quando o sangue jorrou, pois era uma prova do início da solidificação da parede, e, desse modo, como é preciso me conceder, fiquei merecendo minha praça. Franz Kafka, A construção (tradução de Modesto Carone) Após o jantar, assistimos a um filme divertido: A princesa e o pirata, com Bob Hope. Depois, sentamo-nos no Grande Salão para escutar The Mikado, que tocava num gramofone em ritmo excessivamente lento. O primeiro-ministro comentou que a opereta trazia de volta “a era vitoriana, oitenta anos que serão para a história de nossa ilha o que o período antonino foi para Roma”. Agora, porém, “as sombras da vitória” pairavam sobre nós... Finda a guerra, prosseguiu ele, seremos um país fraco, sem dinheiro, sem força, e teremos de viver no meio das duas grandes potências que serão os EUA e a URSS. Jantar com Churchill, em Chequers, dez dias após o término da Conferência de Yalta. John Colville, The Fringes of Power: Downing Street Diaries, 1939-1955
#
#
#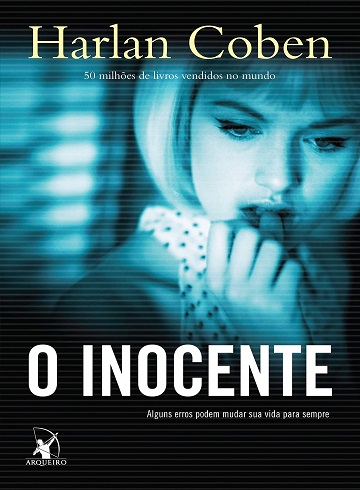
#
#
#
Foi o tenente Lofting quem dominou a reunião. “Ouça uma coisa, Marnham. Você acaba de chegar e não poderia mesmo estar a par da situação. O problema aqui não são os alemães nem os russos. E tampouco os franceses. O problema são os americanos. Não entendem de coisa nenhuma. E, o que é pior, não querem aprender, não admitem receber orientações. É assim que eles são.” O funcionário do British Post Office, Leonard Marnham, jamais tivera a oportunidade de conversar com americanos, mas estudara-os em profundidade no Odeon, o bar assiduamente freqüentado por ele e seus vizinhos. Sorriu sem desunir os lábios e concordou com a cabeça. Do bolso interno do paletó tirou uma cigarreira prateada. Lofting antecipou-se à oferta erguendo a mão espalmada, à maneira da saudação índia. Leonard cruzou as pernas, tirou um cigarro e bateu sua extremidade repetidas vezes contra a cigarreira. Lofting disparou o braço por cima da escrivaninha, esticando-se todo para oferecer o isqueiro. Quando o jovem civil abaixou a cabeça em direção à chama, ele recomeçou. “Como deve imaginar, temos alguns projetos conjuntos, compartilhamos recursos, know-how, esse tipo de coisa. Mas você acha que os americanos têm alguma noção do que seja trabalhar em equipe? Decidem as coisas entre si e vão em frente por conta própria. Agem às nossas costas, sonegam informações, falam conosco como se fôssemos uns retardados.” O tenente Lofting alisou o mataborrão, único objeto que mantinha sobre a escrivaninha de latão. “Mais cedo ou mais tarde teremos de engrossar com eles.” Leonard abriu a boca para falar, mas foi impedido por Lofting, que gesticulou com a mão. “Deixe-me dar um exemplo. Sou o oficial de ligação britânico responsável pela competição inter-setorial de natação do mês que vem. Ninguém pode negar que aqui no Estádio temos a melhor piscina da cidade. É indiscutivelmente o lugar mais apropriado para sediar o evento. Os americanos tinham concordado com isso algumas semanas atrás. Onde acha que vai ser agora? No setor deles, claro, em algum tanque imundo do sul da cidade. E sabe por quê?” Lofting continuou falando sem parar por mais dez minutos. Quando todas as perfídias associadas à prova de natação pareciam ter sido mencionadas, Leonard disse: “O major Sheldrake tinha alguns equipamentos e instruções sigilosas para mim. Sabe de alguma coisa a respeito?”. “Já ia chegar aí”, replicou o tenente com brusquidão. Fez uma pausa e pareceu reunir forças para continuar. Quando tornou a falar, não conseguia evitar que sua voz por vezes resvalasse num tom de irritação esganiçada. “Veja bem, me mandaram para cá com o único objetivo de receber você. Quando a nomeação do major Sheldrake saiu, fui incumbido de apanhar tudo o que estava com ele e passar adiante. Acontece que acabei chegando — e não tive a menor culpa por isso — quarenta e oito horas depois de o major haver partido.” Interrompeu-se. Dava a impressão de ter preparado os esclarecimentos com cuidado. “É claro que os ianques armaram uma confusão monumental, embora o carregamento estivesse trancado em uma sala guardada por sentinelas e o seu envelope lacrado permanecesse no cofre do gabinete do comandante. Eles insistiam que aquilo deveria estar o tempo todo sob a responsabilidade direta de alguém. Pressionado pelo estado-maior, o general-de-brigada ligou para o gabinete do comandante. Não havia nada que se pudesse fazer. Vieram com um caminhão e levaram tudo: envelope, carregamento, tudo. Foi então que eu cheguei. Minhas novas ordens eram: esperar por você, coisa que tenho feito há cinco dias, certificar-me de que você é quem diz ser, explicar a situação e fornecer este endereço de contato.” Lofting tirou um envelope de papel manilha do bolso e o empurrou até o outro lado da mesa. Simultaneamente, Leonard exibiu suas credenciais. Lofting hesitou. As más notícias não haviam acabado. “O negócio é o seguinte. Como essas suas coisas, seja lá o que forem, agora estão sob o cuidado deles, o mesmo acontece com você. Foi transferido. Por ora ficará sob a responsabilidade deles. E deles receberá suas ordens.” “Não tem problema”, disse Leonard. “Pois eu diria que é um enguiço e tanto.” Tendo cumprido seu dever, Lofting ficou em pé e despediu-se com um aperto de mão. O motorista do Exército que trouxera Leonard do aeroporto de Tempelhof naquela tarde aguardava-o no estacionamento do Estádio Olímpico. Em poucos minutos, chegaram ao lugar onde ele ficaria alojado. O cabo abriu o porta-malas do minúsculo carro cáqui, mas não pareceu pensar ser sua obrigação retirar a bagagem lá de dentro. O número 26 da Platanenallee era um edifício moderno, com elevador no vestíbulo. O apartamento ficava no terceiro andar e tinha dois quartos, uma sala de estar espaçosa, cozinha e sala de jantar interligadas, e um banheiro. Leonard ainda morava com os pais em Tottenham e diariamente se deslocava para o trabalho em Dollis Hill.1 Percorreu os aposentos com grandes passadas, acendendo todas as luzes. Eram muitas as novidades. Havia um rádio grande, com botões cremosos, e um telefone aninhado sobre um jogo de mesinhas de centro. A seu lado via-se um mapa da cidade de Berlim. A mobília, de propriedade do Exército, era composta de um conjunto de três peças com motivos florais borrados, um pufe com borlas de couro, uma luminária de chão que tombava para um lado e, encostada à parede oposta da sala de estar, uma escrivaninha de pernas grossas e arqueadas. Leonard deleitou-se com a escolha do quarto e desfez cuidadosamente as malas. Sua própria casa. Não imaginava que isso lhe daria tanto prazer. Pendurou seus ternos — o melhor, o segundo melhor e os cinzentos do dia-a-dia — num guarda-roupa embutido cuja porta deslizava a um simples toque. Sobre a escrivaninha colocou a cigarreira com interior de teca e revestimento de prata, onde suas iniciais haviam sido gravadas, presente de despedida dos pais. Ao lado da cigarreira deixou seu pesado isqueiro de mesa, moldado no formato de uma urna neoclássica. Receberia visitas? Somente depois de tudo satisfatoriamente arrumado, foi que se permitiu sentar na poltrona sob a luminária e abrir o envelope. Ficou desapontado. Era um pedaço de papel arrancado de um bloco de apontamentos. Não havia endereço nenhum, só um nome, Bob Glass, e um número de telefone em Berlim. Pretendera abrir o mapa da cidade sobre a mesa de jantar, localizar o endereço, planejar o itinerário. Agora seria obrigado a pedir orientações a um estranho, um estranho americano, e precisaria usar o telefone, aparelho com o qual, apesar de sua profissão, não se sentia confortável. Seus pais não tinham telefone em casa, seus amigos tampouco, e no trabalho era raro que precisasse fazer chamadas telefônicas. Equilibrando o pedaço de papel no joelho, discou diligentemente o número. Sabia como queria que seu tom de voz soasse. À vontade, resoluto: Aqui é Leonard Marnham. Creio que estava à minha espera. Uma voz ladrou de supetão: “Glass!”. Os modos de Leonard descambaram para a hesitação tipicamente inglesa que ele desejara evitar na conversa com um americano. “Ah, sim, me desculpe, sinto muito tê-lo...” “Quem está falando? Marnham?” “Sim, ele mesmo. Aqui é Leonard Marnham. Creio que estava...” “Anote este endereço. Nollendorfstrasse, número dez, perto da Nollendorfplatz. Esteja aqui amanhã cedo, às oito.” Leonard repetiu o endereço em seu tom de voz mais afável, mas a linha já estava muda. Sentiuse ridículo. Embora a sós, enrubesceu. Notou sua imagem refletida no espelho da parede e aproximou-se com uma expressão de desamparo. Os óculos, amarelados em virtude da evaporação de gordura corporal — pelo menos era essa a sua tese —, mantinham-se absurdamente empoleirados no nariz. Ao removê-los, ficou com a impressão de que algo lhe faltava ao rosto. Ao longo das laterais do nariz percebiam-se faixas vermelhas, conseqüência da pressão que chegava à própria estrutura óssea. Não devia usar óculos. As coisas que desejava realmente ver ficavam todas a pouca distância: um diagrama de circuito, um filamento de válvula, um rosto. Um rosto feminino. A tranqüilidade doméstica esvaíra-se. Perseguido por um desejo desgovernado, tornou a percorrer seus novos domínios. Por fim, controlou-se sentando à mesa de jantar para escrever uma carta aos pais. Esse tipo de redação custava-lhe esforço. Prendia a respiração no início de cada frase e soltava o ar, ofegante, no ponto final. Queridos pai e mãe, A viagem foi cansativa, mas pelo menos não deu nada errado! Cheguei hoje às quatro. Estou num belo apartamento de dois quartos, com telefone. Ainda não conheci as pessoas que trabalharão comigo, mas creio que tudo correrá bem aqui em Berlim. Lá fora está chovendo e há uma ventania horrível. Mesmo no escuro dá para perceber que a cidade foi bastante destruída. Ainda não tive chance de experimentar o meu alemão... Pouco depois, a fome e a curiosidade levaram-no para a rua. Tendo consultado o mapa e memorizado a trajetória, pôs-se a caminhar em sentido leste, rumo à Reichskanzlerplatz. No Dia da Vitória,2 Leonard contava catorze anos, idade suficiente para encher a cabeça com nomes de aviões, navios, tanques, armamentos e suas respectivas qualidades bélicas. Acompanhara os desembarques na Normandia, o avanço para o Leste através da Europa e, antes disso, o avanço para o Norte, pela Itália. Só agora começava a esquecer os nomes de cada uma das principais batalhas então travadas. Para um jovem inglês que pisava pela primeira vez na Alemanha, era impossível não pensar naquela terra sobretudo como uma nação derrotada, e não havia como não sentir orgulho pela vitória. Passara a guerra com a avó, num vilarejo galês que nenhuma aeronave inimiga chegou a sobrevoar. Jamais pegara em armas ou ouvira disparos fora de um polígono de tiro; apesar disso, e a despeito de a cidade ter sido libertada pelos russos, ele caminhava ao cair da tarde por esse aprazível bairro residencial de Berlim — estava mais quente e o vento já não era tão forte — com certa arrogância de proprietário, como se seus pés acompanhassem o ritmo de um discurso de Churchill. Até onde podia observar, o trabalho de reconstrução era intenso. As ruas haviam sido recémpavimentadas e ao longo delas plátanos novos e esguios tinham sido plantados. Em muitos lugares o entulho fora removido e o terreno aplainado, restando apenas pilhas bem-feitas de tijolos velhos, dos quais a argamassa fora raspada. Nos prédios novos, como o dele, sentia-se certa solidez centenária. Ao chegar ao fim da rua, ouviu vozes de crianças inglesas. Um oficial
da Royal Air Force e sua família chegavam em casa, satisfatória evidência de uma cidade conquistada. Emergiu na Reichskanzlerplatz, enorme e vazia. Sob o brilho ocre emitido pelas lâmpadas dos recém-instalados postes de concreto, avistou um edifício majestoso em ruínas, do qual restava uma única fileira de janelas no rés-do-chão. No meio da parede, um curto lance de escada conduzia ao monumental vão de entrada, com sua cantaria elaborada e frontões triangulares. A porta, que decerto fora imponente, tinha voado pelos ares, deixando entrever os faróis dos automóveis que vez por outra passavam pela rua do outro lado do edifício. Era difícil não sentir um prazer infantil com os milhares de morteiros que haviam destelhado os prédios, fazendo desaparecer o que havia dentro deles, reduzindo-os a meras fachadas de janelas escancaradas. Doze anos antes ele talvez tivesse aberto os braços, feito seu barulho de motor e se transformado num bombardeiro em breve vôo comemorativo. Entrou numa rua secundária e encontrou uma Eckkneipe. O lugar ressoava com vozes de homens idosos. Ninguém ali tinha menos de sessenta anos, mas ele não despertou interesse ao se sentar. Os quebra-luzes de pergaminho amarelecido e o denso nevoeiro formado pela fumaça dos charutos garantiam-lhe privacidade. Observou o barman preparar a cerveja que ele pedira com uma frase cuidadosamente ensaiada. O sujeito encheu o copo, retirou com uma espátula a espuma que subia, tornou a enchê-lo e o deixou descansando. Depois repetiu o procedimento. Quase dez minutos se passaram antes que ele considerasse a bebida pronta para ser servida. No pequeno cardápio redigido em letras góticas, Leonard identificou e pediu uma Bratwurst mit Kartoffelsalat. Tropeçou nas palavras. O garçom assentiu com a cabeça e afastou-se rapidamente, como se não fosse tolerar ouvir sua língua receber os maus-tratos de uma nova tentativa. Leonard ainda não estava pronto para retornar ao silêncio de seu apartamento. Pediu uma segunda cerveja após o jantar e depois ainda tomou uma terceira. Enquanto bebia teve a atenção atraída pela conversa na mesa de trás, onde três homens falavam cada vez mais alto. Não lhe restou alternativa senão se devotar ao estrondo de vozes que colidiam, não para se contradizer, e sim, ao que parecia, para tentar tornar o mesmo ponto de vista mais convincente. A princípio, ouvia apenas o fluxo ininterrupto de vogais e sílabas envoltas num manto de complexidade, os irresistíveis ritmos quebrados, a demorada fruição das frases alemãs. Ao chegar à terceira cerveja, seu alemão começou a melhorar e ele passou a distinguir palavras isoladas, cujos significados vinham à tona depois de lhes dedicar um breve momento de atenção. A partir do quarto copo, já ouvia frases soltas que se rendiam à interpretação imediata. Antecipando-se à demorada preparação, pediu outra cerveja. Foi durante esse quinto copo que sua compreensão tornou-se mais célere. Não havia a menor dúvida quanto à palavra Tod, morte, e pouco depois, Zug, trem, e o verbo bringen, levar. Pronunciada com um misto de abatimento e resignação, ouviu a palavra manchmal, às vezes. Às vezes essas coisas eram necessárias. A conversa voltou a ficar animada. Era claramente impulsionada por uma competição de fanfarronismo. Quem vacilasse ficava para trás. As interrupções eram brutais, as vozes soavam com uma insistência cada vez mais violenta, com o falante da vez se gabando de casos ainda mais admiráveis que os relatados por seu predecessor. Tendo a consciência liberada por uma cerveja duas vezes mais forte que a inglesa, servida em recipientes de meio litro, esses homens exibiam em público algo que lhes deveria fazer encolher de horror. Bradavam seus feitos sangrentos para quem quisesse ouvir. Mit meinen blossen Händen! Com minhas próprias mãos! Iam abrindo
caminho a marretadas para suas narrativas, até um companheiro reunir forças e roubar a palavra. Ouviam-se apartes intimidadores e rosnados de aprovação venenosa. Os demais clientes da Kneipe, debruçados sobre suas próprias conversas, não pareciam impressionados. Só o barman olhava de tempos em tempos na direção dos três, sem dúvida para conferir se os copos não estavam vazios. Eines Tages werden mir alle dafür dankbar sein. Um dia todo mundo ainda vai me agradecer por isso. Quando ficou de pé e o garçom veio contar as marcas feitas a lápis no apoio do copo de cerveja, Leonard não resistiu ao impulso de se virar para contemplar os três homens. Eram mais velhos e debilitados do que imaginara. Um dos sujeitos reparou nele e os outros dois se remexeram nas cadeiras. Com os trejeitos afetados dos bêbados incorrigíveis, o primeiro ergueu o copo. Na, junger Mann, biste wohl nicht aus dieser Gegend, wie? Komm her und trink einen mit uns. Ober! Venha tomar uma conosco. Aqui, garçom! Porém Leonard, contando e depositando os marcos na mão do garçom, fez que não ouviu. Na manhã seguinte, levantou-se às seis para tomar banho. Não se apressou na escolha da roupa, hesitando entre tons de cinza e texturas brancas. Vestiu seu segundo melhor terno, depois o tirou. Não queria que sua aparência lembrasse o modo como soara ao telefone. O rapaz que permanecia diante do guarda-roupa só de cueca e camiseta — aquela bem grossa que a mãe colocara na mala —, olhando fixamente para três ternos e um paletó de tweed, intuía o poder do estilo americano. Tinha a impressão de que havia algo de risível na rigidez de suas maneiras. Sua essência britânica não representava para ele o mesmo conforto que havia sido para a geração anterior. Fazia com que se sentisse vulnerável. Os americanos, por sua vez, pareciam completamente à vontade sendo eles mesmos. Optou pelo paletó esporte e por uma gravata de tricô carmim, que ficava mais ou menos oculta sob o suéter caseiro de gola alta. O número 10 da Nollendorfstrasse era um edifício alto e delgado que estava em reforma. Os trabalhadores que decoravam o vestíbulo precisaram afastar as escadas para permitir que Leonard chegasse à estreita escadaria. No último andar as obras já haviam sido concluídas e sobre o piso espalhavam-se alguns tapetes. Três portas davam para o patamar, uma das quais estava entreaberta. Leonard escutou um zumbido que saía por ela. Sobrepondo-se ao ruído, uma voz gritou: “É você, Marnham? Entre, vamos, pelo amor de Deus, não fique aí parado”. Leonard adentrou um espaço que tinha algo de escritório e outro tanto de quarto. Em uma das paredes via-se um grande mapa da cidade e, embaixo dele, a cama desfeita. Aparando a barba com um barbeador elétrico, Glass estava sentado a uma escrivaninha em que reinava o caos. Com a mão livre, mexia o café instantâneo que adicionara a duas canecas de água quente. A chaleira elétrica jazia no chão. “Sente-se”, disse ele. “Jogue aquela camisa em cima da cama. Açúcar? Duas colheres?” Usou a colher para extrair o açúcar de um pacote de papel e o leite em pó de um pote; depois mexeu as xícaras com tanto vigor que o café respingou nos papéis que havia por ali. Assim que a mistura ficou pronta, desligou o barbeador e ofereceu uma das xícaras a Leonard. Enquanto Glass abotoava a camisa, Leonard viu de relance um corpo sólido sob uma camada de pêlos hirsutos que avançava para lá dos ombros. O americano abotoou o colarinho, cingindo o pescoço taludo. Pegou uma gravata de nó pronto que estava em cima da escrivaninha e enfiou a cabeça pela tira de elástico ao se levantar. Não era um sujeito de desperdiçar movimentos. Tirou o paletó do espaldar de uma cadeira e, enquanto o vestia, aproximou-se do mapa. O terno era azul-marinho, estava amarrotado e, em alguns pontos, brilhoso de tão surrado. Leonard observava-o. Certas maneiras de vestir subtraíam às roupas grande parte de sua relevância. A pessoa se ajeitava com
qualquer coisa. Glass bateu com as costas da mão no mapa. “Já deu uma volta por aí?” Ainda sem estar seguro de que conseguiria evitar mais um de seus “Bem, para ser sincero, não”, Leonard balançou a cabeça. “Estava lendo este relatório. É puro chute, mas uma das coisas que dizem aqui é que nesta cidade há entre cinco e dez mil pessoas trabalhando para os serviços de inteligência. Isso sem contar o pessoal de apoio. É só gente que está na linha de frente. Espiões.” Inclinou a cabeça para trás e manteve a barba apontada para Leonard até se dar por satisfeito com a reação que provocara. “A maioria trabalha por conta própria, são garotos fazendo biscate. Hundert Mark Jungen que vivem à toa pelos bares. Vendem suas histórias pelo preço de algumas cervejas. Também compram. Já esteve no Café Prag?” “Não, ainda não.” Com passadas largas, Glass retornou à escrivaninha. No fim das contas, o mapa não servira para nada. “Aquilo parece a Bolsa de Chicago. Vale a pena dar um espiada.” Tinha cerca de um metro e setenta de altura, quase vinte centímetros a menos que Leonard. Parecia espremido no terno. Estampava um sorriso no rosto, mas dava a impressão de estar pronto para pôr o quarto abaixo. Ao se sentar, deu um tapa forte no joelho e disse: “Pois é. Seja bem-vindo!”. Seu cabelo também era espetado e escuro. Começava no alto da testa e esvoaçava para trás, conferindo-lhe a aparência escarpada de um cientista de desenho animado sob forte ventania. A barba, por sua vez, permanecia inerte, absorvendo luz em sua solidez. Com a protuberância de uma cunha, lembrava a barba de um Noé esculpido em madeira. Vindo do outro lado do patamar, um odor urinoso de torrada queimada entrou pela porta aberta. Glass levantou-se de um salto, fechou a porta com um pontapé e voltou para a cadeira. Tomou um longo gole do café que Leonard estava achando quente demais até para bebericar. Tinha gosto de repolho refogado. O truque era se concentrar no açúcar. Glass inclinou-se para a frente. “Me conte o que você sabe.” Leonard fez um relato do encontro com Lofting. Seu tom de voz soava-lhe afetado. Por consideração a Glass, suavizava os tt e aplainava os aa. “Quer dizer que não sabe que equipamento é esse e não faz a menor idéia dos testes que terá de realizar?” “Não.” Glass reclinou-se na cadeira e juntou as mãos atrás da cabeça. “Aquele Sheldrake é um idiota mesmo. Depois que a nomeação saiu, não agüentou ficar aqui nem mais um minuto. Foi embora e não deixou ninguém responsável pelas suas coisas.” Glass fitava Leonard com comiseração. “Ah, os ingleses. Aquele pessoal do Estádio não leva nada a sério. Estão sempre ocupados demais tentando agir como cavalheiros. Não sobra tempo para trabalhar.” Leonard permaneceu em silêncio. Pensou que deveria ser leal. Glass levantou a xícara de café em sua direção e sorriu. “Mas vocês que estão na área técnica são diferentes, não é mesmo?” “É, talvez sim.” Quando disse isso, o telefone tocou. Glass agarrou o fone, escutou durante meio minuto, depois falou: “Não. Já estou a caminho”. Recolocou o fone no gancho e ficou em pé. Conduziu Leonard à porta. “Então não sabe nada sobre o armazém? Ninguém lhe falou sobre Altglienicke?” “Receio que não.”
“Pois é para lá que iremos agora.” Estavam no patamar. Glass usou três chaves para trancar a porta. Balançava a cabeça e sorria consigo mesmo enquanto murmurava: “Esses ingleses... Aquele idiota do Sheldrake...”.
1. Antiga sede do British Post Office, órgão que até os anos 80 era responsável pelos serviços postais e pela totalidade do sistema de telecomunicações do Reino Unido. Em Dollis Hill ficava o centro de pesquisas, que teve importante papel na criação de aparelhos de decodificação de mensagens criptografadas durante a Segunda Guerra. (N. T.) 2. 8 de maio de 1945, dia em que a Alemanha se rendeu incondicionalmente às forças aliadas. (N. T.)
2.
O carro foi uma decepção. Em seu caminho rumo à Nollendorfstrasse, depois de sair do metrô, Leonard avistara um automóvel americano de cor pastel, pára-lamas traseiros em forma de barbatana e acabamentos cromados. O de Glass era um fusca pardacento que não tinha sequer um ano de uso e parecia ter sido submetido a um banho de ácido. Passando-se a mão pela lataria, sentia-se a aspereza da pintura. O interior havia sido despojado de seus confortos: cinzeiros, tapetes, o revestimento de plástico em volta das maçanetas, até a manopla da alavanca de câmbio. O silenciador estava com defeito, ou fora adulterado para que o motor soasse como uma verdadeira máquina de guerra. Através de um buraco perfeitamente redondo no assoalho, era possível ver, como um borrão, a superfície da rua. Dentro dessa concha de lata fria e ressonante, eles passavam rastejando com estardalhaço sob as pontes da estação Anhalter. O método de Glass era colocar o carro em quarta marcha e dirigir como se o câmbio fosse automático. A trinta quilômetros por hora, a lataria tremia toda. Não havia acanhamento na velocidade, e sim sentimento de posse. Com as duas mãos no alto do volante e uma expressão feroz no rosto, Glass inspecionava os pedestres e outros motoristas. Mantinha a barba empinada. Era um cidadão americano e este era o setor dos americanos. Quando entraram na mais ampla Gneisenaustrasse, ele acelerou para quarenta por hora e tirou a mão direita do volante para segurar a alavanca do câmbio. “Altglienicke”, bradou, afundando no assento como se estivesse pilotando um jato, “fica no sul da cidade. Construímos uma estação de radar junto à divisa com o setor russo. Já ouviu falar no an/apr9? Não? É um receptor de última geração. Os soviéticos têm uma base aérea ali perto, em Schönefeld. Queremos captar as emissões deles.” Leonard ficou apreensivo. Não entendia nada de radares. Era especialista em telefonia. “Suas coisas estão numa sala lá dentro. Você terá à disposição toda a aparelhagem necessária à realização dos testes. Se precisar de alguma coisa, fale comigo, certo? Não peça nada a outra pessoa. Entendido?” Leonard fez que sim com a cabeça. Olhava fixamente para a frente, intuindo o tremendo equívoco. No entanto, sabia por experiência própria não ser boa política expressar dúvidas sobre determinado procedimento antes que isso se fizesse absolutamente necessário. Os reticentes cometiam, ou davam a impressão de cometer, menos erros. Estavam se aproximando de um sinal vermelho. Glass reduziu a velocidade para trinta antes de pôr o pé na embreagem e lá o deixar até que o carro parasse. Então pôs o câmbio em ponto morto. Girou o corpo no assento, a fim de encarar seu silencioso passageiro. “Vamos, Marnham. Leonard. Pelo amor de Deus, relaxe. Fale comigo. Diga alguma coisa.” Leonard estava prestes a dizer que não entendia nada de radares, mas Glass disparou uma série de perguntas indignadas. “Você é casado ou o quê? Onde estudou? Do que é que gosta? O que pensa das coisas?” Foi a mudança do sinal para verde e a tentativa de engatar a primeira que o interromperam. À sua maneira metódica, Leonard lidou com as perguntas na mesma ordem em que elas haviam
sido feitas. “Não, não sou casado. Longe disso. Ainda moro com meus pais. Estudei eletrônica na Birmingham University. Ontem à noite descobri que gosto de cerveja alemã. E o que eu penso é que se vocês precisam de alguém para cuidar de radares...” Glass levantou a mão. “Chega, já entendi. A culpa é daquele imbecil do Sheldrake. Não estamos indo a nenhuma estação de radar, Leonard. Você sabe disso. Eu sei disso. Acontece que você ainda não tem acesso a informações de nível três. Por isso estamos indo a uma estação de radar. A encrenca, a humilhação para valer, vai ser passar pelo portão. Não vão deixar você entrar. Mas isso é problema meu. Gosta de mulheres, Leonard?” “Bem, sim, para ser sincero, gosto, sim.” “Ótimo. Faremos alguma coisa juntos hoje à noite.” Vinte minutos depois, deixaram a periferia da cidade para trás e ingressaram numa zona rural plana e pouco atraente, onde se avistavam algumas árvores solitárias e desfolhadas, postes de telégrafo e vastas glebas de terra marrom, demarcadas por valas abarrotadas de capim úmido e sem brilho. As sedes das propriedades agrícolas jaziam rasteiras, com os fundos voltados para a estrada. Caminhos enlameados levavam a casas em construção em uma área terraplenada, os novos subúrbios. Havia até um bloco de apartamentos, ainda inconcluso, despontando no meio de um dos terrenos. Mais adiante, na beira da estrada, viam-se barracos de madeira reciclada e zinco corrugado, os quais, segundo informou Glass, pertenciam aos refugiados do Leste. Pegaram uma estrada mais estreita que foi se afunilando até virar um caminho de terra. À esquerda passava uma estrada recém-pavimentada. Glass inclinou a cabeça para trás e indicou com a barba. Duzentos metros à frente, a princípio obscurecido pelas formas estéreis do pomar que se erguia nos fundos, estava o destino deles. O lugar decompunha-se em dois edifícios principais. Um deles tinha dois andares e era coberto por um telhado de inclinação suave; o outro, que partia angularmente do primeiro, era baixo e cinza, lembrando um pavilhão de celas carcerárias. Dispostas em uma única fileira, suas janelas pareciam ter sido fechadas com tijolo. No telhado deste segundo prédio notava-se um conjunto de quatro globos, dois grandes e dois pequenos, instalados de uma maneira que sugeria a imagem de um homem gordo com as mãos rechonchudas estendidas. Ali perto, torres de rádio formavam um belo e geométrico arabesco contra a monotonia branca do céu. Antes da cerca dupla que circundava a área, havia algumas construções provisórias, uma pista de serviço circular e uma faixa de terreno baldio. Três caminhões do Exército estavam estacionados em frente ao segundo prédio e soldados em uniformes de serviço circulavam entre eles, possivelmente descarregando-os. Glass encostou o carro na beira da estrada. Mais à frente, ao lado de uma cancela, um sentinela os observava. “Vou te contar a história do nível um. Mandaram um engenheiro do Exército construir este lugar. Disseram para ele que seria um armazém, um armazém militar como outro qualquer. A planta especificava um porão com três metros e meio de pé-direito. Acontece que isso é fundo, muito fundo. Implicaria deslocar montanhas de terra, usar caminhões basculantes para levar essa terra embora, encontrar um local onde fosse possível despejá-la e por aí afora. E não é assim que o Exército constrói seus armazéns. De modo que o comandante decide que só vai tocar a obra depois de receber confirmação direta de Washington. Então levam o sujeito para um canto e ele fica sabendo que o projeto envolve diferentes níveis de informação reservada. Promovido ao nível dois, ele descobre que não está construindo um armazém, e sim uma estação de radar, e que o porão servirá para armazenar equipamentos especiais. Ele volta ao trabalho feliz da vida. É o único na obra a par do real objetivo do prédio. Mas está enganado. Se
tivesse acesso ao nível três, saberia que isso aqui não é uma estação de radar coisíssima nenhuma. Se o Sheldrake tivesse lhe passado suas instruções, você também saberia. Eu sei, mas não tenho autoridade para promover você de nível. O negócio é o seguinte: todo mundo aqui pensa ter acesso ao nível mais reservado de informação, todos acham que conhecem a verdadeira história. A pessoa só fica sabendo que há um nível ainda mais reservado que o seu quando obtém acesso a ele. Pode ser que haja um nível quatro. Não vejo como isso seria possível, mas eu só o saberia se elevassem meu nível de acesso. O problema é que você...” Glass hesitou. Um segundo sentinela saíra de sua guarita e fazia sinal para que eles se aproximassem. O americano falou rápido. “Você está no nível dois, mas já sabe que há um nível três. Isso é uma transgressão, uma irregularidade, e eu bem que poderia inteirá-lo de tudo. Mas antes quero me resguardar.” Glass avançou com o carro até a cancela e abaixou o vidro. Tirou um cartão da carteira e o entregou ao sentinela. De dentro do carro, os dois homens ficaram olhando para os botões do sobretudo que despontavam na altura do abdome do soldado. Então um rosto ossudo e afável ocupou o espaço da janela. Seus olhos passaram rapidamente por Bob Glass e fixaram-se em Leonard. “O senhor deve ter algo para mim, não?” Leonard fez menção de mostrar as cartas de apresentação preparadas pela unidade de pesquisas de Dollis Hill, mas Glass murmurou: “Não, pelo amor de Deus, não faça isso”, e tirou as cartas do alcance do sentinela. Depois disse: “Afaste essa cabeça, Howie. Vou descer”. Os dois caminharam até a guarita. O outro sentinela, que havia se colocado em frente à cancela, mantinha o fuzil erguido diante de si, em postura quase cerimonial. À passagem de Glass, acenou com a cabeça. Glass e o primeiro sentinela entraram na guarita. Pela porta aberta era possível divisar Glass ao telefone. Cinco minutos depois, ele voltou até o carro e falou através da janela. “Vou ter que entrar e explicar o seu caso.” Estava prestes a partir, quando mudou de idéia e sentou. “Outra coisa. Esses rapazes do portão não sabem de nada. Nem sobre o armazém. Disseram a eles que isto aqui é área de segurança máxima e que cabe a eles vigiar a entrada. Podem saber quem você é, mas não o que faz. Portanto, não vá sair por aí mostrando essas cartas. Pensando bem, é melhor eu ficar com elas. Vou jogá-las na fragmentadora do escritório.” Glass bateu a porta com força e se afastou a passos largos, dobrando as cartas e enfiando-as no bolso enquanto caminhava. Curvou-se para passar por baixo da cancela e seguiu em direção ao edifício de dois andares. Então um silêncio enfadonho de domingo caiu sobre Altglienicke. O sentinela continuava parado no meio da estrada. Seu colega permanecia sentado dentro da guarita. Do lado de lá da cerca não havia movimento. De onde estava, Leonard já não enxergava os caminhões estacionados do outro lado do edifício de um pavimento. Só se ouviam estalidos irregulares de metal se contraindo. Era a lataria do carro que encolhia com o frio. Leonard puxou a gabardina contra si. Queria descer e caminhar um pouco, mas sentia-se constrangido por causa do sentinela. Em vista disso, apertou com força uma mão na outra, tentou manter os pés desencostados do assoalho de metal e esperou. Pouco depois, uma porta lateral do prédio de um pavimento foi aberta e dois homens saíram por ela. Um deles voltou-se para trancá-la. Ambos mediam bem mais de um metro e oitenta. Tinham cabelo à escovinha e vestiam camisetas cinza por fora de calças cáqui folgadas. Pareciam imunes ao frio. Levavam consigo uma bola de rúgbi laranja, que arremessavam para lá
e para cá à medida que se afastavam um do outro. Continuaram andando até a bola traçar arcos compridíssimos no ar, percorrendo distâncias fantásticas enquanto girava suavemente em torno de seu eixo maior. Não eram os arremessos com duas mãos dos jogadores de rúgbi. Os lançamentos eram feitos com uma mão só, num movimento sinuoso, o braço passando feito um chicote por cima do ombro. Leonard nunca assistira a uma partida de futebol americano e não fazia a menor idéia de como era o jogo. O gestual repetitivo, com um jogador arremessando a bola e o outro a agarrando no alto, pouco acima da clavícula, parecia conter um exibicionismo e um amor-próprio por demais exagerados para que isso pudesse ser considerado uma forma séria de prática esportiva. O que havia ali era uma ostensiva demonstração de habilidade física, homens crescidos se exibindo. Seu único público, um inglês que congelava dentro de um carro alemão, observava-os com um fascínio enojado. Os extravagantes movimentos da mão esquerda espalmada que precediam os lançamentos eram dispensáveis, como também o eram as vaias idiotas que um dirigia aos arremessos do outro. Todavia, notava-se um poder jubilante impulsionando a bola laranja a cada arremesso, e havia algo de belo na limpidez de seu vôo pelo céu branco, na parabólica simetria de ascensão e queda, na certeza de que ela não escaparia às mãos que se posicionavam para recebê-la, algo que também representava uma subversão involuntária daquele ambiente: o concreto, a cerca dupla com seus postes em forma de Y, o frio. Que dois adultos se mostrassem tão brincalhões em público, era isso que o atraía e irritava. Dois sargentos ingleses vidrados em críquete aguardariam pela organização de um treinamento coletivo, formalmente anunciado, ou, pelo menos, tentariam improvisar uma partida propriamente dita. Aquilo era pura fanfarronice, criancice. Os dois continuavam jogando. Quinze minutos mais tarde, um deles consultou o relógio. Retornaram com passos céleres à porta lateral, destrancaram-na e entraram. Por um ou dois minutos, sua ausência pairou sobre a faixa de ervas daninhas que restava da primavera anterior entre a cerca e o prédio. Então até esse vestígio se esvaiu. O sentinela percorreu toda a extensão da cancela listrada, lançou um olhar para o colega no interior da guarita, reassumiu a posição anterior e bateu com os pés no chão de concreto. Dez minutos depois, Bob Glass saiu com seus passos largos do edifício de dois andares. A seu lado vinha um capitão do Exército americano. Ambos se curvaram e passaram por baixo da cancela, um de cada lado do sentinela. Leonard ia abrir a porta e descer do carro, mas Glass fez sinal para que ele abaixasse o vidro. Apresentou-lhe o major Angell, deu um passo para trás e então o major se curvou e disse: “Bem-vindo, meu rapaz!”. Tinha um rosto comprido e encovado, ao qual os resquícios da barba escanhoada davam uma coloração verde. Com uma das mãos protegidas por luvas de couro pretas, estendeu a Leonard seus papéis. “Salvei-os da fragmentadora.” Baixou o tom da voz e falou com uma confidencialidade zombeteira. “O Bob exagerou. Daqui para a frente não ande com isso por aí. Deixe-os em casa. Vamos arrumar um passe para você.” A loção pós-barba do major invadiu o gélido automóvel. O aroma era de refresco de limão. “Autorizei o Bob a lhe mostrar as instalações. Não tenho permissão para conceder liberações excepcionais por telefone, por isso tive de vir falar pessoalmente com esses rapazes.” Afastou-se rumo à guarita. Glass sentou-se ao volante. A cancela foi erguida e, quando cruzaram o portão, o major lhes fez uma continência cômica, tocando a têmpora com um dedo só. Leonard começou a acenar, mas, sentindo-se ridículo, abaixou a mão e forçou um sorriso. Estacionaram ao lado de um caminhão do Exército, junto ao prédio de dois andares. De algum lugar dobrando a esquina do edifício, vinha o som de um gerador a diesel. Em vez de guiá-lo à
porta de entrada, Glass pegou Leonard pelo cotovelo, conduziu-o alguns passos pela relva em direção à cerca e apontou para além dela. A cem metros de distância, na outra extremidade da campina, dois soldados os observavam com binóculos. “É o setor russo. Os Vopos nos vigiam dia e noite.1 Estão muito interessados na nossa estação de radar. Registram todas as pessoas e coisas que entram ou saem daqui. É a primeira vez que estão vendo você. Se passarem a vê-lo com freqüência talvez até lhe atribuam um codinome.” Voltaram em direção ao carro. “Portanto, a primeira coisa a lembrar é que você deve sempre se comportar como se fosse um visitante que estivesse de passagem por uma estação de radar.” Leonard quis perguntar sobre os jogadores de bola, porém Glass já avançava à sua frente rumo ao outro lado do prédio e dizia por cima do ombro: “Tinha pensado em levar você até a sala onde guardamos o seu equipamento, mas, que diabo, não fará a menor diferença se formos direto ao que interessa”. Contornaram o canto do edifício e passaram entre dois caminhões-geradores barulhentos. Glass abriu para Leonard uma porta que dava para um pequeno corredor. Na outra ponta havia mais uma porta, esta com um aviso de “Entrada Reservada”. Apesar de tudo, estavam de fato num armazém, um lugar amplo, de concreto, parcamente iluminado pelas dezenas de lâmpadas que pendiam das vigas de aço. Cargas, caixas de madeira e engradados jaziam acondicionados em compartimentos formados por estruturas de metal aparafusadas. Uma das extremidades do armazém estava desocupada, e ali Leonard avistou uma empilhadeira manobrando em meio às manchas de óleo que enodoavam o piso. Seguiu naquela direção atrás de Glass, que entrou por um corredor repleto de cargas em cujas embalagens notava-se a palavra “Frágil” gravada em estêncil. “Algumas de suas coisas ainda estão aqui”, disse o americano. “Mas já levaram a maior parte para a sua sala.” Leonard não fez perguntas. Era evidente que Glass se divertia com o desvendamento parcimonioso do segredo. Quando chegaram ao trecho desocupado, interromperam a caminhada e ficaram observando a empilhadeira, que havia parado junto a bem-arranjadas pilhas de perfis de aço curvo de cerca de trinta centímetros de largura e noventa de comprimento. Havia enorme quantidade deles, talvez centenas. Alguns estavam sendo içados naquele momento. “São as chapas de revestimento. Foram tratadas com uma solução de borracha para não fazer barulho quando batem uma na outra. Podemos acompanhar essas aí até lá embaixo.” A empilhadeira começou a descer a rampa de concreto que levava ao porão e eles foram atrás dela. O motorista, um homenzinho musculoso com farda de serviço, voltou-se e acenou com a cabeça para Glass. “Esse é o Fritz. Chamamos todos eles de Fritz. É um dos homens do Gehlen.2 Sabe do que estou falando?” A resposta de Leonard foi sufocada pelo fedor que vinha subindo de encontro a eles. Glass prosseguiu. “O Fritz era nazista, como a maioria do pessoal do Gehlen. Mas esse Fritz aí era um verdadeiro horror.” Então, com um sorriso de menoscabo, em que havia muito do anfitrião lisonjeado, tomou conhecimento da reação de Leonard ao mau cheiro. “Ah, isso é uma história e tanto. Depois eu conto.” O nazista levara a empilhadeira até um dos cantos do porão e desligara o motor. Leonard permanecia com Glass ao pé da rampa. O fedor emanava da terra amontoada até o teto que cobria dois terços do piso do porão. Leonard pensou em sua avó, não exatamente nela, mas no banheiro que havia sob a ameixeira nos fundos do jardim de sua casa. Era um lugar sombrio, como ali embaixo. O assento de madeira da privada tinha as beiradas gastas e, de tão esfregado, assumira uma coloração quase branca. Era esse o cheiro que subia pelo buraco, um odor não de todo
desagradável, exceto no verão. Vinha da terra, da umidade asquerosa e das fezes ainda não completamente neutralizadas pelos produtos químicos. Glass disse: “Não é nada perto do que já foi”. A empilhadeira estava estacionada à beira de um buraco bem iluminado, com cerca de seis metros de fundura e outros tantos de diâmetro. Havia uma escada de ferro aparafusada em uma das estacarias fincadas no chão do poço. Lá no fundo, vazando a parede do poço, notava-se um buraco redondo e escuro, a boca de um túnel. Diversos cabos e fios entravam por ele, vindos de cima. Um tubo de ventilação estava conectado a uma bomba barulhenta, instalada bem mais atrás, junto à parede do porão. Viam-se ainda cabos telefônicos, um feixe grosso de fios elétricos e uma mangueira com vestígios de cimento, alimentada pela máquina de menor porte que permanecia em silêncio ao lado da primeira. Reunidos à borda do buraco, havia quatro ou cinco dos homens corpulentos que Leonard viria a conhecer como sargentos da escavação. Um deles cuidava do guincho posicionado bem na beirada do poço, outro falava no telefone de campanha. Este último acenou indolentemente com a mão para Glass, depois deu as costas e continuou falando. “Ouviu o que ele disse. Você está bem debaixo dos pés deles. Desmonte esse troço devagar e faça o favor de não bater nele, porra.” Calou-se, ficou ouvindo por alguns instantes e em seguida interrompeu quem estava do outro lado da linha. “Se você... Escute aqui... Escute... Não... Cale essa boca e escute... Se vai perder as estribeiras, então é melhor subir e consertar esse negócio aqui em cima.” Colocou o fone no gancho e falou para Glass, por cima do buraco. “A porra do macaco enguiçou de novo. Já é a segunda vez hoje.” Glass não apresentou Leonard a nenhum dos homens e eles não demonstraram o menor interesse em sua presença. Parecia invisível ao dar a volta no poço para obter um ângulo de visão melhor. Seria sempre assim e ele logo adotou o hábito para si mesmo: não falava com ninguém, a não ser que a pessoa estivesse fazendo algo que fosse relevante para o seu próprio trabalho. O procedimento era conseqüência da preocupação com a segurança, mas também derivava, como ele descobriu mais tarde, de certo culto viril à competência, que autorizava as pessoas a ignorar os estranhos e falar em sua presença como se eles não existissem. Havia ido até o outro lado do buraco para acompanhar um diálogo. Um vagonete que corria sobre trilhos surgira no fundo do poço, vindo do túnel. Em cima dele via-se uma caixa de madeira retangular, cheia de terra. O homem que o empurrava, nu da cintura para cima, chamara o que estava no alto do poço junto ao guincho, o qual se recusara a descer o cabo de aço com o gancho, argumentando que, como o macaco hidráulico tinha enguiçado, não fazia sentido mandar as placas de revestimento para o fim do túnel, de modo que a empilhadeira não podia ser descarregada e, por conseguinte, não estaria disponível para levar embora a caixa de terra caso ela fosse içada para cima. Portanto, o melhor a fazer era deixá-la lá mesmo. O homem que estava dentro do poço franziu o cenho contra os fachos de luz que se projetavam sobre ele. Não ouvira bem o que o outro dissera. A explicação foi repetida. O escavador balançou a cabeça e colocou as mãos, que eram grandes, na cintura. Podiam guinchar a caixa, berrou, e deixá-la de lado até que a empilhadeira estivesse liberada. O sujeito do guincho tinha a resposta pronta na ponta da língua. Queria aproveitar o intervalo para examinar a engrenagem do aparelho. O escavador disse mas que porra, isso podia muito bem ser feito depois que a caixa fosse içada. Não podia porra nenhuma, disse o sujeito do guincho.
O escavador ameaçou subir e o de cima replicou que por ele tudo bem, estava pronto para pôr aquilo em pratos limpos. O escavador mirou o guincho lá no alto. Tinha os olhos semicerrados. Então se pôs a galgar os degraus da escada. A perspectiva de briga deixou Leonard aflito. Olhou para Glass, que cruzara os braços e empertigara a cabeça. O escavador já havia chegado ao topo da escada e contornava a borda do poço, passando por trás dos equipamentos, rumo ao guincho. O outro, por sua vez, não tirava os olhos do que estava fazendo. Sem objetivo aparente, a passos indolentes, os outros sargentos foram se aproximando do espaço cada vez menor que separava os dois homens. Ouviu-se um burburinho de vozes apaziguadoras. O escavador disparou uma série de obscenidades em direção ao sujeito do guincho, que girava uma chave de fenda no interior do engenho e não retrucou. Era o ritual de desarmamento. O homem irado foi persuadido pelos outros a tirar proveito do macaco defeituoso e fazer uma pausa. Por fim, saiu pisando duro rumo à rampa, resmungando consigo mesmo e chutando uma pedra solta. Sua partida não despertou nenhuma reação. O sujeito do guincho cuspiu dentro do poço. Glass pegou Leonard pelo cotovelo. “Estão trabalhando nisso desde agosto, em turnos de oito horas, vinte e quatro horas por dia.” Atravessando o corredor que fazia a conexão entre os dois edifícios, chegaram ao prédio da administração. Glass parou em frente a uma janela e apontou mais uma vez para o posto de observação do outro lado da cerca. “Quero te mostrar até onde já chegamos. Está vendo o cemitério às costas dos Vopos? Bem atrás do cemitério há alguns veículos militares. Estão estacionados na estrada principal, a Schönefelder Chaussee. Estamos bem debaixo deles, prestes a atravessar a estrada.” Os caminhões dos alemães-orientais encontravam-se a aproximadamente trezentos metros de distância. Leonard divisou outros veículos trafegando pela estrada. Glass seguiu em frente e pela primeira vez Leonard ficou irritado com os métodos do americano. “Senhor Glass...” “Bob, por favor.” “Vai me contar para que serve tudo isso?” “Claro. É justamente aí que contamos com a sua ajuda. Do outro lado daquela estrada, enterradas num fosso, ficam as linhas que os soviéticos usam para falar com o Alto-Comando em Moscou. Toda a comunicação entre as capitais do Leste europeu passa antes por Berlim. É uma herança do velho controle imperial. Seu trabalho é cavar do túnel até elas e instalar os pontos de escuta. O resto fica por nossa conta.” Glass apressou o passo e cruzou um par de portas de vaivém, adentrando uma recepção onde havia lâmpadas fluorescentes, uma máquina de CocaCola e som de datilografia. Leonard puxou Glass pela manga da camisa. “Escute aqui, Bob. Não entendo nada de escavação e no que se refere à instalação dos... Quanto ao resto...” Glass soltou uma exclamação jocosa. Tinha uma chave na mão. “Muito engraçado. Seu cabeça oca, eu estava falando do papel de vocês, ingleses, na operação. Você trabalhará aqui dentro.” Destrancou a porta, esticou o braço, acendeu a luz e abriu caminho para que Leonard entrasse primeiro. Era uma sala grande, sem janelas. Duas mesas com cavaletes haviam sido encostadas a uma das paredes. Em cima delas viam-se alguns equipamentos básicos para testar circuitos e um ferro
de soldar. O resto do espaço era ocupado por caixas de papelão idênticas umas às outras, empilhadas de dez em dez até o teto. Glass deu um chute de leve na caixa mais próxima. “Cento e cinqüenta gravadores Ampex. Sua primeira tarefa é desempacotá-los e jogar as caixas fora. Temos um incinerador nos fundos. Vai levar uns dois ou três dias para fazer isso. A seguir, cada gravador deve ter uma tomada, o que significa que precisa ser testado. Depois explico como fazer para solicitar peças de reposição. Entende de ativação de sinal? Ótimo. Todos terão de ser adaptados. Isso levará algum tempo. Quando acabar, talvez você possa ajudar com os circuitos que descem até os amplificadores. Então será a vez da instalação. Como ainda estamos escavando, não precisa se apressar. Gostaríamos de tê-los rodando até abril.” Leonard sentiu uma alegria inexplicável. Pegou um ohmímetro. Era de fabricação alemã e estava envolto em baquelita marrom. “Para trabalhar com resistências baixas, precisarei de um instrumento mais preciso que este. E ventilação. A condensação aqui dentro pode ser um problema.” À maneira de uma reverência, Glass empinou a barba e depois deu uma batidinha nas costas de Leonard. “Esse é o espírito. Faça exigências exorbitantes. Todos o respeitarão por isso.” Leonard levantou os olhos para verificar se havia ironia na expressão de Glass, mas o americano já havia apagado a luz e o aguardava junto à porta aberta. “Você começa amanhã às nove. Agora continuemos nosso tour.” A visita restringiu-se à cantina, que servia comida quente trazida de um quartel vizinho, ao escritório de Glass e, por fim, ao vestiário e aos banheiros. O prazer do americano em exibir essas comodidades não era menos intenso. Com solenidade, avisou a Leonard que as privadas entupiam facilmente. Permaneceram junto à parede oposta aos mictórios enquanto ele contava uma história, habilmente transformada em conversa fiada nas duas ocasiões em que alguém entrou no banheiro. O reconhecimento aéreo havia indicado que o terreno mais bem drenado e, portanto, mais adequado à escavação, era o que atravessava o cemitério do setor oriental. Após muita discussão, a rota proposta foi descartada. Mais cedo ou mais tarde, os russos iriam descobrir o túnel. Não fazia sentido lhes oferecer material de propaganda com o espetáculo da profanação de sepulturas alemãs pelos americanos. E os sargentos não ficariam nada satisfeitos quando os caixões começassem a se desintegrar sobre suas cabeças. Assim, uma nova trajetória para o túnel foi traçada, passando ao norte do cemitério. Contudo, no primeiro mês de escavação, eles encontraram água. Os engenheiros disseram que era um lençol freático suspenso. Os sargentos retrucaram: desçam aqui e sintam o cheiro. Na tentativa de evitar o cemitério, os projetistas haviam feito o túnel passar bem debaixo da área de drenagem da fossa séptica do armazém. Era tarde demais para mudar o rumo. “Não faz idéia do que foi cavar no meio daquilo, e olha que era tudo coisa nossa. Perto daquilo um cadáver putrefato teria sido um alívio. Você precisava ouvir a chiadeira do pessoal.” Almoçaram na cantina, um lugar claro, com mesas de fórmica enfileiradas e vasos de plantas sob as janelas. Glass pediu bife com fritas para os dois. Leonard jamais vira fora do açougue nacos de carne tão grandes como aquele. Seu bife não cabia no prato e no dia seguinte sua mandíbula ainda estava dolorida. Causou consternação ao pedir um chá. Os funcionários da cantina quase organizaram uma busca aos saquinhos de chá que o cozinheiro assegurava haver no depósito. Leonard rogou-lhes que deixassem isso para lá. Bebeu o mesmo que Glass, uma garrafa
de soda-limonada gelada que, imitando o anfitrião, tomou no gargalo. Mais tarde, quando caminhavam para o carro, Leonard perguntou se podia levar para casa os diagramas de circuito dos gravadores Ampex. Já podia ver a si mesmo instalado no sofá do Exército, lendo à luz das lâmpadas do apartamento, enquanto a escuridão da tarde caía sobre a cidade. Estavam saindo do prédio. Glass ficou furioso. Interrompeu a caminhada para esclarecer o assunto. “Está maluco? Não pode levar nada, absolutamente nada que tenha a ver com este trabalho para casa. Ficou claro? Nem diagramas, nem anotações, nem porra nenhuma. Certo?” Leonard piscou ao ouvir a palavra obscena. Na Inglaterra, costumava levar trabalho para casa, chegava mesmo a se sentar com suas coisas na sala enquanto ouvia o rádio com os pais. “Sim, claro. Desculpe.” Ao deixarem o edifício, Glass olhou em volta, certificando-se de que não havia ninguém por perto. “Nosso governo, o governo americano, está gastando milhões de dólares nesta operação. A contribuição de vocês é muito útil, especialmente na escavação do túnel vertical. As lâmpadas também são suas. Mas sabe de uma coisa?” Tinham chegado ao fusca, Glass parou junto à porta do motorista, Leonard à porta do passageiro. Entreolhavam-se por cima da capota e Leonard sentiu-se obrigado a estampar uma expressão inquiridora no rosto. Não, não sabia de coisa nenhuma. Glass ainda não destravara a porta. “Pois vou te contar. É tudo política. Acha que não conseguiríamos instalar essas escutas sozinhos? Pensa que não temos nossos próprios amplificadores? Deixamos vocês entrarem nisso com a gente por razões políticas. Supostamente mantemos um relacionamento especial com vocês, essa é a razão.” Entraram no carro. Leonard ansiava por ficar sozinho. O esforço que fazia para ser educado o sufocava e, para ele, a agressividade estava fora de cogitação. Disse: “É muito gentil da parte de vocês, Bob. Obrigado”. A ironia caiu no vazio. “Não me agradeça”, respondeu Glass ao dar a partida. “Só não meta os pés pelas mãos em questões de segurança. Cuidado com o que fala, cuidado com as companhias. Lembre-se de seus compatriotas Burgess e Maclean.”3 Leonard virou de lado para olhar pela janela. Sentia o ardor da indignação queimar-lhe as faces e o pescoço. Passaram pela guarita e entraram chacoalhando na estrada. Glass pôs-se a falar de outras coisas: bons lugares para se comer, a alta taxa de suicídios, o mais recente caso de seqüestro, a obsessão local com o oculto. Leonard respondia com monossílabos amuados. Passaram pelos barracos dos refugiados, pelas novas construções e logo estavam de volta ao cenário de destruição e reconstrução. Glass insistiu em levá-lo à Platanenallee. Queria aprender o itinerário e precisava ver o apartamento, por “razões profissionais e técnicas”. No caminho, passaram por um trecho da Kurfürstendamm. Com uma ponta de orgulho, Glass indicou a corajosa elegância das novas lojas que haviam sido erguidas em meio às ruínas, a multidão de consumidores, o famoso Hotel am Zoo, os letreiros de neon com as marcas Cinzano e Bosch aguardando o momento de ser ligados. Perto da Igreja Memorial do Imperador Guilherme, com sua flecha ceifada, havia até um pequeno congestionamento. Contrariando as expectativas de Leonard, Glass não revistou o apartamento em busca de dispositivos de escuta. Em vez disso, foi de cômodo em cômodo, parando no meio de cada um e olhando em volta antes de seguir em frente. Não pareceu apropriado que ele entrasse no quarto, onde a cama permanecia desfeita e as meias do dia anterior jaziam no chão. Porém Leonard não
disse nada. Aguardou na sala de estar e, quando por fim Glass retornou, ainda pensava estar prestes a escutar uma avaliação das condições de segurança do imóvel. O americano abriu os braços. “É incrível. Não dá para acreditar. Viu onde eu moro, não viu? Como é que arranjam um lugar desses para um bosta de um assistente técnico do Post Office?” Por trás da barba, Glass fitava Leonard com ferocidade, como se realmente esperasse uma resposta. Leonard não sabia responder a insultos de bate-pronto. Jamais fora insultado depois de adulto. Era gentil com as pessoas e elas em geral lhe retribuíam a gentileza. Seu coração batia rápido, confundindo-lhe os pensamentos. Disse: “Deve ter havido algum equívoco”. Sem dar a impressão de ter mudado de assunto, Glass disse: “Passo aqui lá pelas sete e meia. Quero levar você para conhecer uns lugares”. Glass encaminhou-se para a porta da frente. Aliviado com o fato de que não iriam afinal sair no braço, Leonard acompanhou o visitante, proferindo sinceros e corteses agradecimentos pela excursão matinal e pela noite que viria a seguir. Depois de Glass ir embora, ele retornou à sala de estar, perturbado por emoções contraditórias, inarticuladas. Estava com um hálito de carne, tal qual um cachorro. Ainda sentia o estômago empanturrado e cheio de gases. Sentou-se e afrouxou a gravata.
1. Integrantes da Volkspolizei, força responsável pela segurança interna na Alemanha Oriental entre 1949 e 1990. (N. T.) 2. Reinhard Gehlen, oficial do Exército alemão que, após o fim da Segunda Guerra, criou uma organização de espionagem para cooperar com o serviço secreto dos eua. (N. T.) 3. Expressão tradicionalmente empregada para designar o vínculo privilegiado que, desde a Segunda Guerra, norteia as relações diplomáticas e militares entre os eua e o Reino Unido. Guy Burgess e Donald Maclean, diplomatas britânicos, trabalharam para o serviço secreto soviético entre a Segunda Guerra e o início da Guerra Fria. Sumiram misteriosamente em 1951, quando estavam para ser identificados pelas agências de inteligência ocidentais. Em 1956, reapareceram em Moscou. (N. T.)
3.
Vinte minutos mais tarde ele estava à mesa da sala de jantar, recarregando sua caneta-tinteiro. Limpou a ponta com um trapo que guardava para esse fim. Endireitou a folha de papel que colocara diante de si. Agora que tinha um local de trabalho, estava contente, apesar da confusão com relação a Glass. Sentia o impulso de colocar as coisas em ordem. Preparou-se para fazer a primeira lista de compras de sua vida. Refletiu sobre suas necessidades. Era difícil pensar em comida. Estava sem fome nenhuma. Tinha tudo de que precisava. Um trabalho, um lugar onde sua presença era aguardada. Receberia um passe, fazia parte de uma equipe, compartilhava de um segredo. Era membro da elite clandestina, os cinco ou dez mil indivíduos que Glass mencionara e que conferiam à cidade seu real propósito. Escreveu “Salz”. Vira a mãe elaborar listas de compras sem o menor esforço, em folhas de papel da Basildon Bond. 1/2 kg car., 1 kg cen., 2 kg bat. Não ficava bem para um integrante da comunidade de inteligência, alguém que tinha nível três na Operação Gold, usar uma codificação tão medíocre. Ademais, não sabia cozinhar. Ponderou sobre os arranjos domésticos de Glass, riscou o “Salz” e escreveu “Kaffee und Zucker”. Consultou o dicionário para saber como se dizia leite em pó: Milchpulver. Agora a lista tinha ficado fácil. À medida que ela aumentava, Leonard tinha a impressão de estar se inventando e definindo a si mesmo. Não teria comida em casa, não queria saber de fazer sujeira, não submergiria no ramerrão prosaico do dia-a-dia. Com a libra cotada em doze marcos, podia se dar ao luxo de comer numa Kneipe à noite e na cantina do armazém durante o dia. Consultou o dicionário novamente e escreveu Tee, Zigaretten, Streichhölzer, Schokolade. Este último item serviria para manter elevado o nível de açúcar no sangue, quando ele trabalhasse até tarde da noite. Releu a lista enquanto se levantava. Achou que ela era um indício perfeito de como ele se sentia: desimpedido, viril, sério. Caminhou até a Reichskanzlerplatz e descobriu uma série de lojas em uma rua perto da Kneipe onde havia jantado na noite anterior. Os prédios cujas fachadas davam para a calçada haviam sido destruídos, expondo, vinte metros mais para trás, uma segunda fileira de estruturas em que as paredes frontais dos pavimentos superiores tinham desabado. Viam-se cômodos de três paredes suspensos no ar, com interruptores de luz, lareiras, papéis de parede ainda intactos. Num deles distinguia-se a armação enferrujada de uma cama, noutro uma porta que abria para o nada. Mais adiante, fora apenas uma das paredes da sala que sobrevivera, um gigante selo postal de papel florido, manchado pela ação do tempo, recobrindo o reboco dilatado que permanecia grudado aos tijolos úmidos. Ao lado desta sala divisavam-se os azulejos brancos de um banheiro, entrecortados pelas cicatrizes dos canos de esgoto. Uma parede limítrofe exibia as marcas dentadas deixadas por uma escada que subia em ziguezague por cinco andares. O que se achava mais bem preservado eram as estruturas de alvenaria por onde corriam as chaminés, as quais passavam transversalmente de uma sala para outra, transformando em comunitárias as lareiras que a certa altura haviam dado a falsa impressão de ser exclusivas. Só o térreo dos edifícios estava ocupado. Uma placa pintada com destreza fora fixada no alto de dois postes fincados na beira da calçada, anunciando cada uma das lojas. Trilhas bastante
repisadas contornavam o entulho e as pilhas de tijolos até chegar às entradas abrigadas sob os cômodos suspensos no ar. As lojas eram bem iluminadas, quase prósperas, e ofereciam uma variedade de produtos tão grande quanto a de qualquer venda de esquina em Tottenham. Dentro de todas elas formavam-se pequenas filas. A única coisa que estava em falta era café instantâneo. Ofereceram-lhe café em pó. A mulher da Lebensmittelladen não permitiu que ele levasse duzentos gramas. Explicou-lhe o motivo e Leonard aquiesceu com a cabeça, como se tivesse compreendido. A caminho de casa, parou numa barraca de rua para comer uma Bockwurst e tomar uma CocaCola. Estava de volta à Platanenallee, esperando pelo elevador, quando dois homens de macacão branco passaram por ele e começaram a subir a escadaria. Carregavam latas de tinta, escadas de mão e pincéis. Houve uma troca de olhares e Guten Tags foram murmurados quando ele se espremeu para passar por eles. Enquanto procurava pelas chaves, parado diante da porta de seu apartamento, ouviu os dois conversando no andar de baixo. As vozes eram distorcidas pelos degraus de concreto e pelas paredes lustrosas do poço da escadaria. As palavras perdiam-se pelo caminho, mas a cadência, o ritmo, era sem sombra de dúvida o do inglês londrino. Leonard deixou as compras junto à porta e chamou: “Olá...”. Ao ouvir o som da própria voz, deu-se conta da solidão que sentia. Um dos sujeitos apoiara a escada no chão e olhava para cima. “Olá, olá?” “Quer dizer então que são ingleses”, disse Leonard ao descer. O segundo sujeito apareceu, saído do apartamento que ficava exatamente embaixo do seu. “Pensamos que você fosse um desses chucrutes”, explicou ele. “Pois pensei o mesmo de vocês.” Agora que estava diante dos dois homens, Leonard não sabia exatamente o que queria. Eles o fitavam, nem afáveis, nem hostis. O primeiro sujeito pegou a escada e levou-a para dentro do apartamento. “Mora aqui?”, indagou por cima do ombro. Leonard achou que não havia problema em ir atrás dele. “Acabei de chegar”, respondeu. O apartamento era bem maior que o seu. Tinha um pé-direito mais alto e o hall, que no andar de cima era pouco mais que um corredor, ali compunha um espaço aberto e generoso. O segundo sujeito entrou carregando uma pilha de capas para móveis. “Na maior parte das vezes eles repassam o serviço para os chucrutes. Mas este aqui teve de ficar por nossa conta.” Acompanhou-os até a ampla sala de estar, onde não havia mobília nenhuma. Observou-os estender as capas sobre o assoalho de madeira encerado. Pareciam não se importar de falar de si mesmos. Eram recrutas da rasc,1 e não estavam com a menor pressa de voltar para casa. Gostavam da cerveja, das lingüiças e das garotas. Preparavam-se para dar início ao trabalho, raspando o madeiramento com grosas embrulhadas em lixas. O primeiro homem, natural de Walthamstow, disse: “As mulheres daqui não se fazem de difíceis, a menos que o sujeito seja russo”. O amigo dele, nascido em Lewisham, concordou. “Elas odeiam os russos. Quando eles chegaram aqui, em maio de 45, agiram feito uns animais. Não há nenhuma que não tenha tido a irmã mais velha, a mãe ou até a porra da avó estuprada, esfaqueada; todas sabem de algum caso, todas se lembram.” O primeiro sujeito ajoelhou-se junto ao rodapé. “Uns amigos nossos estavam aqui em 53, montando guarda na Potsdamer Platz, quando os russos começaram a atirar contra a multidão, assim, sem mais nem menos, com o lugar cheio de mulheres e crianças.” Levantou a cabeça para
olhar para Leonard e disse com gosto: “Eles não prestam mesmo”. E a seguir: “Pelo visto você não é militar”. Leonard disse que era engenheiro do Post Office e que viera a Berlim para trabalhar no aprimoramento das linhas internas do Exército. A história tinha sido acertada em Dollis Hill e foi sua primeira chance de usá-la. Sentiu-se um patife diante da franqueza dos dois homens. Teria gostado de lhes dizer que estava fazendo a sua parte na luta contra os russos. Seguiu-se mais um pouco de conversa à toa e então os dois se deixaram ficar de costas para ele, ajoelhados no trabalho. Despediram-se, Leonard voltou para cima e entrou no apartamento com as compras. A tarefa de arrumá-las nas prateleiras o alegrou. Preparou um chá e ficou contente por poder permanecer sentado na funda poltrona sem fazer nada. Se houvesse por ali uma revista, talvez tivesse se entregado à leitura. Jamais tivera muito apreço por livros. Adormeceu onde estava e acordou quando lhe restava apenas meia hora para se arrumar para o passeio da noite.
1. Royal Army Service Corps, unidade do Exército britânico responsável pelo transporte de provisões e equipamentos, entre outras atividades de apoio desenvolvidas nas linhas de frente. (N. T.)
4.
Havia outro homem sentado no banco do passageiro do fusca quando Leonard desceu à rua com Bob Glass. Chamava-se Russell e decerto acompanhara a aproximação dos dois pelo retrovisor, pois saltou do carro no momento em que eles se acercavam do veículo por trás, cumprimentando Leonard com um feroz aperto de mão. Disse que trabalhava como locutor na Voz da América e redigia boletins para o rias, o serviço de rádio de Berlim Ocidental. Trajava um paletó esporte de um vermelho escandaloso e botões dourados, calça creme com vincos salientes e sapatos com borlas, sem cadarços. Feitas as apresentações, Russell puxou a alavanca que permitia dobrar o banco do passageiro e, com um gesto, ofereceu o assento traseiro para Leonard. A camisa de Russell, como a de Glass, estava desabotoada, revelando a camiseta branca de gola rulê que ele usava por baixo. Quando o carro entrou em movimento, Leonard aproveitou-se da escuridão para apalpar o nó da gravata. Refletindo que os dois americanos já poderiam ter reparado que ele estava engravatado, preferiu não tirá-la. Russell parecia estar convencido de ser sua responsabilidade transmitir a maior quantidade possível de informações ao inglês. Empregando um tom de voz profissionalmente relaxado, falava sem tropeçar nas palavras, sem se repetir ou parar entre uma frase e outra. Totalmente concentrado no trabalho, informava o nome das ruas pelas quais iam passando, chamava a atenção para a extensão dos estragos causados pelo bombardeio, indicava os novos edifícios de escritórios em construção. “Estamos atravessando o Tiergarten. Você precisa ver isso durante o dia. Sobraram pouquíssimas árvores. As que as bombas não destruíram, os berlinenses usaram para se aquecer durante o bloqueio.1 Hitler chamava isto de Eixo Oriente-Ocidente. Agora é a rua 17 de Junho, em homenagem à insurreição de dois anos atrás.2 Ali adiante fica o monumento aos soldados russos que tomaram a cidade, e estou certo de que sabe o nome desse famoso edifício...” Glass reduziu a marcha ao passar pelo Departamento de Polícia e pela Alfândega de Berlim Ocidental. Viram-se diante de meia dúzia de Vopos. Um deles iluminou a chapa do fusca com uma lanterna e fez sinal, autorizando-lhes a entrada no setor russo. Passaram por baixo do Portal de Brandemburgo. Aqui a cidade era bem menos iluminada. Não se viam outros carros circulando pelas ruas. Era difícil, porém, sentir excitação, pois Russell prosseguia com seu boletim informativo e não alterava o tom de voz nem quando o carro passava em algum buraco. “Este trecho deserto já foi o centro nervoso da cidade, uma das mais famosas vias públicas da Europa. É a Unter den Linden... Ali está a verdadeira sede do governo da República Democrática da Alemanha, a embaixada soviética. Fica no lugar que já foi ocupado pelo velho Hotel Bristol, um dos mais elegantes...” Até então Glass permanecera em silêncio. Então interveio educadamente. “Só um minuto, Russell. Leonard, resolvemos trazê-lo até o Leste para que mais tarde você possa apreciar os contrastes. Estamos indo para o Neva Hotel...” Russell reanimou-se. “Antes chamava-se Hotel Nordland, um lugar de segunda categoria. Agora decaiu mais ainda, mas continua a ser o melhor hotel de Berlim Oriental.”
“Russell”, disse Glass, “você está precisando urgentemente de uma bebida.” A escuridão era tão intensa que eles puderam enxergar as luzes do saguão do hotel projetandose de viés na calçada quando ainda estavam na outra extremidade da rua. Ao descer do carro, perceberam que na realidade havia mais uma fonte de luz: o letreiro em neon azul do restaurante de uma cooperativa que ficava em frente ao hotel, o H. O. Gastronom. As janelas embaçadas pela condensação eram o único sinal de vida aparente. Na recepção do Neva, um sujeito de uniforme marrom conduziu-os silenciosamente até o elevador, que mal dava para os três. A descida foi vagarosa, mas, sob a luz tênue de uma única lâmpada, seus rostos estavam muito próximos um do outro para que pudessem travar algum diálogo. Depararam com umas trinta ou quarenta pessoas no bar, debruçadas em silêncio sobre seus drinques. Num canto, em cima de um tablado, um clarinetista e um acordeonista folheavam partituras musicais. As paredes do bar eram forradas com um estofado repleto de tachões e borlas, de um cor-de-rosa já bastante surrado, que também revestia o balcão. Viam-se candelabros majestosos, todos apagados, e espelhos lascados em molduras douradas. Movido pela idéia de pagar a primeira rodada, Leonard quis partir rumo ao balcão, mas Glass o conduziu até uma mesa junto à minúscula pista de dança com piso de parquete. Seu sussurro soou alto. “Não deixem que vejam seu dinheiro aqui dentro. Use apenas marcos orientais.” Um garçom enfim se aproximou e Glass pediu uma garrafa de champanhe russo. No momento em que eles erguiam as taças, os músicos começaram a tocar “Red sails in the sunset”. Ninguém se sentiu tentado a ir para a pista. Russell perscrutava os cantos mais escuros; então se levantou e saiu andando entre as mesas. Voltou com uma mulher magra que usava um vestido branco feito para alguém maior que ela. Leonard e Glass ficaram observando enquanto ele conduzia a moça num eficiente foxtrote. Glass balançava a cabeça. “A luz fraca o enganou. Essa aí não vai dar em nada”, previu, e o vaticínio logo se mostrou correto, pois ao fim da música Russell fez uma mesura cortês e, oferecendo o braço à mulher, escoltou-a de volta à sua mesa. Ao se reunir a eles, deu de ombros: “É a alimentação daqui”. E, reincidindo momentaneamente no tom de voz que usava durante as locuções na Voz da América, expôs detalhes do consumo médio de calorias em Berlim Oriental e Ocidental. Interrompeu-se dizendo: “Mas que diabo”, e pediu mais uma garrafa. O champanhe era doce como soda-limonada e gasoso demais. Nem parecia bebida de verdade. Glass e Russell falavam sobre a questão alemã. Com a debandada de refugiados para o Ocidente, via Berlim, quanto tempo levaria para a economia da República Democrática entrar em colapso por falta de mão-de-obra? Russell sabia os números de cor, centenas de milhares de pessoas por ano. “E elas são o que há de melhor por aqui, três quartos dos que partem têm menos de quarenta e cinco anos. Aposto que isso dura no máximo mais três anos. Depois o Estado alemão-oriental pára de funcionar.” Disse Glass: “Enquanto houver governo haverá Estado, e o governo durará o tempo que os soviéticos quiserem. A miséria deste lado vai ser brava, mas o Partido se vira. Acreditem em mim”. Leonard fez que sim com a cabeça e confirmou sua concordância com um “hum-hum”, mas não se aventurou a emitir uma opinião. Ergueu o braço e admirou-se ao verificar que o garçom atendia a seu chamado como atendera aos dos outros. Pediu mais uma garrafa. Jamais se sentira tão feliz. Lá estavam eles, bem no meio do arraial dos comunistas, bebendo champanhe
comunista, três homens de responsabilidades conferenciando sobre questões de Estado. A conversa voltara-se para a Alemanha Ocidental, a República Federal, que estava prestes a ser aceita como membro pleno da otan. Russell achava isso um grande equívoco. “É uma porcaria de fênix renascendo das cinzas.” Glass disse: “Se queremos ter uma Alemanha livre, precisamos lhe dar condições para que se fortaleça”. “Os franceses não vão cair nessa”, retrucou Russell, e virou-se para Leonard em busca de apoio. Nesse momento o champanhe chegou. “Pode deixar que eu pago”, adiantou-se Glass e, depois que o garçom se afastou, disse para Leonard: “Está me devendo sete marcos ocidentais”. Enquanto Leonard enchia as taças, a mulher magra passou com a amiga pela mesa deles e a conversa tomou novo rumo. Russell comentou que não havia no mundo moças tão alegres e independentes como as de Berlim. Leonard disse que, não sendo russo, o sujeito não tinha como se dar mal. “Elas se lembram muito bem de quando os russos chegaram aqui, em 45”, afirmou, com autoridade comedida, “todas têm irmãs mais velhas, mães ou até avós que foram estupradas e maltratadas.” Os dois americanos discordavam, mas levaram-no a sério. Chegaram mesmo a rir quando ele mencionou as “avós”. Enquanto ouvia o que Russell tinha a dizer, Leonard tomou um longo gole de champanhe. “Os russos permanecem em suas unidades, fora do país. Os que vivem por aqui, os oficiais, os comissários, saem-se bastante bem com as mulheres.” Glass concordou. “Os russos sempre arrumam alguma otária disposta a trepar com eles.” A banda estava tocando “How you gonna keep them down on the farm?”. O champanhe doce era nauseante. Foi um alívio quando o garçom trouxe três copos limpos e uma garrafa de vodca gelada. Voltaram a falar sobre os russos. A voz de locutor de rádio de Russell desaparecera. Seu rosto estava suado e reluzia, refletindo o rubor do paletó. Dez anos antes, quando tinha vinte e dois anos e era tenente do Exército, contou Russell, ele fizera parte do destacamento de reconhecimento do coronel Frank Howley, o qual, em maio de 1945, partira rumo a Berlim para dar início à ocupação do setor americano. “Pensávamos que os russos eram gente como a gente. Tinham morrido aos milhões. Eram sujeitos valentes, grandalhões, festivos, que bebiam vodca até cair. E durante a guerra toda havíamos fornecido montanhas de equipamento para eles. Como poderiam não ser nossos aliados? Isso foi antes de darmos de cara com eles. Bloquearam nosso caminho cem quilômetros a oeste de Berlim. Descemos dos caminhões de braços abertos para cumprimentá-los. Tínhamos aprontado os presentes, estávamos ansiosos pelo encontro.” Russell pegou no braço de Leonard. “Mas você precisa ver como eles foram frios! Frios, Leonard! Tínhamos champanhe para eles, champanhe francês, mas não quiseram nem provar. O que mais poderíamos fazer para receber de volta um aperto de mão que fosse? Só nos deixaram passar depois de reduzirmos nosso destacamento para cinqüenta veículos. E tivemos de acampar a quinze quilômetros da cidade. Na manhã seguinte, permitiram que entrássemos, mas sob forte escolta. Não confiavam na gente, não gostavam de nós. Desde o primeiro dia nos tomaram por inimigos. Tentaram nos impedir de organizar nosso próprio setor. “E continuou assim. Não sorriam nunca. Jamais se esforçavam para que as coisas dessem
certo. Mentiam, criavam obstáculos, agiam com crueldade. Estavam sempre falando grosso, mesmo que fosse para teimar com as tecnicidades de algum acordo. Puxa vida, dizíamos a todo instante, também não é à toa, esses caras acabaram de passar por uma guerra imunda, vai ver é apenas o jeito deles. Resolvemos deixar por isso mesmo, estávamos cheios de inocência. Enquanto falávamos sobre as Nações Unidas e a nova ordem mundial, eles saíam pela cidade seqüestrando e espancando políticos não-comunistas. Levamos quase um ano para ficar espertos com eles. E quer saber de uma coisa? Sempre que os encontrávamos, esses oficiais russos pareciam uns infelizes, uns desgraçados. Era como se esperassem levar um tiro pelas costas a qualquer momento. Não sentiam prazer em agir como canalhas. É por isso que jamais consegui odiá-los. Estavam só obedecendo ordens. A sujeira vinha de cima.” Glass serviu mais vodca. E disse: “Já eu os detesto. Não que isso me tire do sério, não, tem gente que fica maluca com isso, eu não. Mas não me venha dizer que o que temos de odiar é o sistema deles. O sistema só funciona se houver alguém por trás”. Ao colocar o copo de volta na mesa, acabou derramando um pouco de bebida. Enfiou o indicador no meio da pequena poça. “O que esses comunas têm para vender é uma miséria, uma porcaria ineficiente. Agora resolveram exportá-la à força. Estive em Budapeste e Varsóvia no ano passado. Meu chapa, pois não é que deram um jeito de minimizar a felicidade!? Eles sabem disso, mas não param. Caramba, olhe para este lugar! Leonard, a gente te trouxe para a espelunca mais chique do setor deles. Olhe para isto. Olhe para estas pessoas. Olhe para elas!”. Glass estava quase berrando. Russell fez um gesto com a mão. “Pegue leve, Bob.” Glass sorriu. “Tudo bem. Não vou arrumar encrenca.” Leonard olhou em volta. Através da penumbra, divisou as cabeças dos outros clientes curvadas sobre seus drinques. No bar, o barman e o garçom haviam se virado para olhar para o outro lado. Os dois músicos tocavam uma marchinha animada. Foi a última coisa de que guardou uma impressão distinta. No dia seguinte não se lembraria de como nem quando haviam saído do Neva. Devem ter aberto caminho por entre as mesas, tomado o elevador acanhado e passado pelo sujeito de uniforme marrom. Junto ao carro via-se a vitrine escura do mercado de uma cooperativa e, em seu interior, uma enorme pilha de latas de sardinha e, acima da pilha, um retrato de Stalin emoldurado em papel crepom vermelho com uma legenda em grandes letras brancas, que Glass e Russell traduziram num uníssono caótico: A inabalável amizade entre o povo soviético e o povo alemão é uma garantia de paz e liberdade. Pouco depois, estavam na divisa setorial. Glass desligara o motor, lanternas esquadrinhavam o interior do carro enquanto os papéis deles eram examinados, ouvia-se o som de botas de biqueira de aço indo e vindo na escuridão. Em seguida, transpuseram uma placa que dizia em quatro línguas: Você está saindo do Setor Democrático de Berlim, e alcançaram outra que informava nos mesmos idiomas: Você está entrando no Setor Britânico. “Agora estamos na Wittenbergplatz”, anunciou Russell no banco da frente. Passaram vagarosamente por uma enfermeira da Cruz Vermelha sentada ao pé de um gigantesco modelo de vela, em cujo topo ardia uma chama de verdade. Russell tentava reavivar seu boletim informativo. “Estão angariando donativos para os Spätheimkehrer, os que só agora regressam à pátria, as centenas de milhares de soldados alemães que continuam detidos pelos russos...” Glass disse: “Dez anos! Esqueça. Esses não voltam mais”.
A seguir veio uma mesa entre uma porção de outras num lugar enorme e barulhento, e uma banda que tocava em cima de um palco, praticamente abafando as vozes com uma versão jazzística de “Over there”. Havia um panfleto anexado ao cardápio, dessa vez apenas em alemão e inglês, impresso com um tipo mal-acabado que balançava e dançava de lá para cá sob seus olhos. Bem-vindo ao salão de dança das maravilhas técnicas, o paraíso do entretenimento. Cem mil contatos garantem... — a palavra ecoava um sentido de que ele não conseguia se lembrar —, garantem o funcionamento adequado do moderno sistema de mesas-telefone, formado por duzentas e cinqüenta mesas providas de aparelhos telefônicos. Todas as noites circulam por nosso serviço pneumático de mesas postais milhares de cartas ou presentinhos que os visitantes trocam entre si — uma experiência única e divertidíssima para todos. Os famosos espetáculos aquáticos do Resi são de magnífica beleza. Um show fantástico, em que oito mil litros de água são expelidos por minuto por cerca de nove mil jatos. Para produzir os efeitos de luz, são necessárias cem mil lâmpadas coloridas. Glass passava os dedos pela barba e exibia um largo sorriso. Disse algo, e teve de o repetir aos brados: “Aqui é bem melhor!”. No entanto, o lugar era barulhento demais para que pudessem dar início a uma conversa sobre as vantagens do setor ocidental. A água colorida jorrava em frente à banda, subindo, abaixando, inclinando-se de um lado para o outro. Leonard evitava olhar para ela. Sensatamente, optaram por beber cerveja. Assim que o garçom se afastou, apareceu uma garota com uma cesta de rosas. Russell comprou uma e a deu de presente a Leonard, que quebrou o talo e acomodou a flor atrás da orelha. Na mesa ao lado, dois alemães trajando paletós bávaros debruçaram-se para examinar o conteúdo da lata que viera chacoalhando pelo tubo pneumático. Com uma roupa de sereia repleta de lantejoulas, uma mulher beijava o líder da banda. Soaram assovios e vivas. A banda começou a tocar e a mulher recebeu um microfone. Tirou os óculos e pôs-se a cantar “It’s too darn hot” com forte sotaque. Os alemães pareciam desapontados. Olharam para uma mesa a uns quinze metros de distância, onde duas moças riam sem parar, sucumbindo uma nos braços da outra. Mais para lá de onde elas estavam, ficava a apinhada pista de dança. A mulher cantou “Night and day”, “Anything goes”, “Just one of those things” e, por fim, “Miss Otis regrets”. Então todo mundo se levantou para aplaudir e bater os pés no chão e pedir bis. A banda fez um intervalo e Leonard pagou mais uma rodada de cerveja. Russell deu uma boa olhada em volta e disse que estava bêbado demais para arranjar uma garota. Falaram sobre Cole Porter e enumeraram suas canções favoritas. Russell contou que conhecia um sujeito cujo pai trabalhava no hospital para onde Porter fora levado após seu acidente de cavalo em 1937. Por algum motivo, pediram aos médicos e enfermeiras para não comentar nada com a imprensa. Isso levou a uma conversa sobre a questão do sigilo. Russell disse que havia segredos demais no mundo. Estava rindo. Devia saber alguma coisa sobre o trabalho de Glass. Glass assumiu uma expressão séria, típica de certos estados de embriaguez. Inclinou a cabeça para trás e mirou Russell por cima da barba. “Sabe qual foi o curso mais interessante que fiz na faculdade? Biologia. Estudamos a evolução. E aprendi um negócio importante.” Passou a incluir Leonard em seu olhar. “Foi algo que me ajudou a escolher minha profissão. Faz milhares, não, milhões de anos que temos esses miolos enormes, o isocórtex, certo? Só que não falávamos uns com os outros e vivíamos feito uns pobres-diabos. Não tínhamos nada. Nem linguagem, nem cultura, nada. Então, de repente, bang! Lá estava. De uma hora para outra não podíamos mais viver sem isso, e não havia como voltar para trás. E como foi que, sem mais nem menos, esse
troço veio à luz?” Russell encolheu os ombros. “Não foi a mão de Deus?” “Mão de Deus uma ova. Vou contar como foi. Naquela época, costumávamos passar o dia inteiro juntos, todos fazendo a mesma coisa. Vivíamos em bandos. De modo que não precisávamos de linguagem. Quando um leopardo se aproximava, não havia por que perguntar: Ei, rapaz, o que é que vem vindo ali por aquela trilha? Um leopardo! Todos o viam, todos se punham a pular e a gritar, tentando espantá-lo. Mas o que acontece se alguém se afasta para ficar um pouco sozinho? No momento em que vê um leopardo se aproximar, ele passa a saber de algo que os outros não sabem. E ele sabe que os outros não sabem. Possui algo que os outros não têm, um segredo, e é assim que a sua individualidade, a sua consciência, começa a se formar. Se quiser compartilhar o segredo, se resolver sair correndo pela trilha para avisar os demais, terá de inventar a linguagem. É desse modo que a cultura torna-se possível. Mas o sujeito também pode optar por permanecer onde está e torcer para que o leopardo dê cabo do chefe do grupo, que anda lhe fazendo passar por maus bocados. É um plano secreto, o que implica mais individualidade, mais consciência.” A banda começou a tocar uma música barulhenta em ritmo acelerado. Glass teve de se esgoelar para concluir: “Foram os segredos que nos permitiram ser o que somos hoje”, e Russell levantou o copo para saudar a tese do amigo. Um garçom interpretou mal o gesto e se aproximou, levando-os a pedir mais uma rodada de cerveja, e no momento em que a sereia avançou tremeluzindo até a frente do palco e foi festejada por uma saraivada de vivas, nesse momento, um ruído áspero estalou na mesa e o tubo expeliu uma lata, que colidiu com o receptáculo de metal e lá se alojou. Os três fitaram-na de olhos arregalados, mas nenhum deles se mexeu. Então Glass a apanhou e desatarraxou a tampa. Tirou de dentro um pedaço de papel dobrado e o abriu em cima da mesa. “Meu Deus”, exclamou, “é para você, Leonard.” Perplexo, ele pensou por um instante que poderia ser um bilhete da mãe. Deviam-lhe uma carta da Inglaterra. E era tarde, pensou, e ao sair de casa não havia dito aonde ia. Os três permaneciam debruçados sobre o bilhete. Suas cabeças impediam a passagem da luz. Russell leu em voz alta. “An den jungen Mann mit der Blume im Haar.” Para o rapaz com a flor no cabelo. “Mein Schöner, estive observando-o da minha mesa. Gostaria que viesse até aqui e me tirasse para dançar. Mas se não puder fazer isso, ficaria muito feliz se se virasse e sorrisse para mim. Desculpe a intromissão, sua amiga da mesa 89.” Os americanos ergueram-se e olharam em volta, à procura da mesa, enquanto Leonard permanecia sentado com o pedaço de papel nas mãos. Leu novamente as palavras alemãs. A mensagem não chegava a ser uma surpresa. Agora que a tinha diante de si, tratava-se antes de reconhecer, aceitar o inevitável. Nunca tivera dúvida de que a coisa começaria assim. Para ser franco consigo mesmo, precisava admitir que de algum modo sempre soubera disso. Colocaram-no de pé. Viraram-no e arrastaram-no pelo salão. “Olha lá, é aquela ali.” Por entre as cabeças, através da nuvem de fumaça de cigarro que pairava no ar, realçada pela contraluz do palco, Leonard vislumbrou uma mulher sentada sozinha. Glass e Russell encenaram uma pantomima espalhafatosa para o deixar mais apresentável, espanando o pó de seu paletó, ajeitando sua gravata, fixando melhor a flor em sua orelha. Depois o empurraram para a frente, como a uma canoa. “Vai!”, disseram. “Isso, garoto!” Ele singrava em sua direção e ela observava sua aproximação. Mantinha o cotovelo apoiado
na mesa e sustentava o queixo com a mão. A sereia cantava Don’t sit under zuh apple tree viz anyone else but me, anyone else but me. Ele pensou — com acerto, como se veria mais tarde — que sua vida estava prestes a passar por uma transformação. Quando se achava a três metros da mesa, ela sorriu. E ele chegou no exato instante em que ressoava o acorde final da canção. Susteve-se num balanço suave, a mão apoiada no espaldar de uma cadeira, esperando que os aplausos esmorecessem, e quando isso aconteceu, Maria Eckdorf disse num inglês perfeito, ainda que marcado por uma entonação graciosa: “Vamos dançar?”. Leonard desculpou-se tocando de leve com a ponta dos dedos no estômago. Três líquidos de natureza muito diversa repousavam ali. Disse ele: “Para ser sincero, se importaria se eu me sentasse?”. E foi o que fez e imediatamente se deram as mãos, e muitos minutos se passaram antes que ele fosse capaz de dizer mais alguma palavra.
1. Entre junho de 1948 e maio de 1949, os soviéticos bloquearam as estradas e ferrovias que ligavam Berlim à Alemanha Ocidental. Durante esse período, o abastecimento dos setores da cidade administrados pelas potências ocidentais teve de ser feito por via aérea. (N. T.) 2. Em junho de 1953, três meses após a morte de Stalin, operários de Berlim Oriental saíram às ruas para protestar contra as privações impostas pelo regime comunista. A revolta se espalhou pela Alemanha Oriental, até ser reprimida por forças soviéticas. (N. T.)
5.
Seu nome era Maria Louise Eckdorf, tinha trinta anos e morava na Adalbertstrasse, em Kreuzberg, a vinte minutos do apartamento de Leonard. Trabalhava como datilógrafa e tradutora em uma pequena oficina mecânica do Exército britânico, em Spandau. Tinha um ex-marido chamado Otto, que aparecia de forma imprevisível duas ou três vezes ao ano para arrancar dinheiro dela e, de quando em quando, dar-lhe uma pancada na cabeça. Seu apartamento tinha dois cômodos, a minúscula cozinha ficava atrás de uma divisória de cortina e para chegar lá a pessoa precisava galgar cinco lances de uma lúgubre escadaria de madeira. Em todos os andares, vozes ecoavam através das portas. Não havia água quente e, no inverno, o que saía da torneira era apenas um fio de água fria, pois o registro permanecia praticamente fechado para impedir que os canos congelassem. Aprendera inglês com a avó, que antes e depois da Primeira Guerra havia sido instrutora de alemão numa escola para meninas inglesas na Suíça. Sua família mudara-se de Düsseldorf para Berlim em 1937, quando Maria tinha doze anos. Seu pai havia sido representante regional de uma empresa que montava caixas de câmbio para veículos pesados. Atualmente os pais moravam em Pankow, no setor russo. O pai trabalhava como cobrador de trem e a mãe arrumara recentemente um emprego de empacotadora numa fábrica de lâmpadas. Ainda guardavam rancor da filha por ela ter se casado contra a vontade deles quando tinha vinte anos, e não sentiam o menor comprazimento na confirmação de suas mais sombrias previsões. Era raro encontrar uma mulher sem filhos usufruindo do prazer de viver sozinha num apartamento de um quarto. Havia escassez de acomodações em Berlim. Os vizinhos de seu andar e do andar de baixo guardavam distância dela, mas os moradores dos andares inferiores, os que não sabiam muito a seu respeito, pelo menos a tratavam com educação. Contava com boas amizades entre as moças que trabalhavam na oficina. Na noite em que conheceu Leonard, estava acompanhada de Jenny Schneider, uma amiga que passou a noite toda dançando com um sargento do Exército francês. Maria também era sócia de um clube de ciclismo, cujo tesoureiro, um sujeito de cinqüenta anos, estava desesperadamente apaixonado por ela. Em abril do ano anterior alguém havia lhe roubado a bicicleta no porão do bloco de apartamentos. Sua ambição era aperfeiçoar o inglês para um dia poder se candidatar ao cargo de intérprete no serviço diplomático. Alguns desses fatos chegaram-lhe aos ouvidos depois de ele se animar a mudar a cadeira de posição, excluindo Glass e Russell de seu campo de visão, e pedir uma dose de Pimms com soda-limonada para Maria e mais uma cerveja para si próprio. O resto foi se acumulando aos poucos e com dificuldade, ao longo de várias semanas. Às oito e meia da manhã seguinte à noitada no Resi, meia hora antes de seu horário de entrada, ele estava diante dos portões do armazém, tendo percorrido a pé os últimos dois quilômetros depois do vilarejo de Rudow. Sentia-se indisposto, exausto, tinha sede e ainda estava um pouco bêbado. Ao acordar, encontrara um pedaço rasgado de maço de cigarros em cima do criadomudo. Nesse pedaço de cartolina, que ele agora levava no bolso, Maria havia anotado seu endereço. Durante a viagem de metrô, ele o examinara algumas vezes. Ela pedira emprestada a caneta do amigo de Jenny, o sargento francês, e escrevera o nome da rua e o número do
apartamento usando as costas de Jenny como apoio, enquanto Glass e Russell aguardavam no carro. Leonard tinha na mão o passe que lhe autorizava a entrada na estação de radar. O sentinela pegou o cartão e estudou intensamente o semblante do inglês. Ao chegar ao que agora considerava sua sala, Leonard encontrou a porta aberta e viu três homens lá dentro recolhendo suas ferramentas. Seu aspecto indicava que haviam trabalhado a noite inteira. As caixas contendo os gravadores Ampex tinham sido empilhadas no meio da sala. Fixadas nas paredes, notavam-se prateleiras profundas o bastante para comportar os aparelhos depois de desencaixotados. Uma escadinha de biblioteca garantia o acesso às prateleiras mais altas. Um buraco circular havia sido aberto no forro, a fim de ligar a sala ao ducto de ventilação, e uma grade de metal acabara de ser aparafusada no lugar. De algum ponto acima do forro vinha o som do ventilador responsável pela circulação de ar. Ao se afastar para permitir que um dos homens passasse pela porta com sua escada, Leonard notou uma dúzia de caixas de plugues elétricos e instrumentos novos sobre a mesa. Estava examinando-os quando Glass surgiu a seu lado com uma faca de caça enfiada numa bainha de lona verde. Sua barba reluzia sob a luz elétrica. Falou sem recorrer a preliminares. “Abra-as com isto. Tire dez aparelhos por vez, coloque-os nas prateleiras, depois leve o papelão para os fundos e queime-o até virar cinza. Aconteça o que acontecer, não me apareça na frente do prédio com essas coisas. Eles estarão de olho em você. Não deixe que o vento leve nada embora. Você não vai acreditar, mas algum gênio imprimiu números de série nas caixas. Quando estiver fora da sala, mantenha-a trancada. Esta é a sua chave, você é responsável por ela. Assine aqui.” Um dos trabalhadores voltou e pôs-se a vasculhar a sala. Leonard suspirou e disse: “Foi uma noite excelente. Obrigado”. Esperava que Bob Glass perguntasse sobre Maria, queria ter seu triunfo reconhecido. Porém o americano havia lhe dado as costas e olhava para as prateleiras. “Assim que os gravadores estiverem aí, terão de ser protegidos contra o pó. Mandarei providenciar algumas capas.” O homem da manutenção estava de quatro e esquadrinhava o chão com os olhos. Com o bico do sapato de couro cru, Glass apontou para um furador. “Aquele lugar é mesmo um espetáculo”, insistiu Leonard. “Para falar a verdade, ainda estou me sentindo meio bambo.” O sujeito pegou a ferramenta e saiu. Glass fechou a porta com um pontapé. Pela inclinação da barba, Leonard sabia que iria levar uma descompostura. “Escute aqui. Você acha que esse negócio de abrir e queimar caixas de papelão não tem a menor importância. Pensa que isso é trabalho de zelador. Só que está enganado. Tudo, absolutamente tudo, cada detalhe deste projeto é importante. Por acaso você tinha algum bom motivo para deixar que um funcionário da manutenção ficasse sabendo que eu e você saímos juntos ontem à noite? Pense bem, Leonard. O que é que um oficial de ligação de alta patente andaria fazendo com um auxiliar técnico do British Post Office? Aquele sujeito é um soldado. E se daqui a pouco ele vai com um amigo a um bar e, por mera curiosidade, inocentemente, os dois se põem a falar sobre isso? Suponha que ao lado deles está sentado um alemãozinho esperto, desses que aprenderam a manter os ouvidos sempre atentos. Há centenas deles espalhados pela cidade. O rapaz vai sair feito um tiro em direção ao Café Prag, ou a outro lugar qualquer, com uma mercadoria para vender. É capaz de conseguir cinqüenta marcos por isso, talvez o dobro, se estiver com sorte. Estamos cavando bem debaixo dos pés deles, estamos dentro do setor deles. Se nos apanham, atiram para matar. E estarão em seu pleno direito se o fizerem.”
Glass chegou mais perto. Leonard sentia-se desconfortável, e não apenas por causa da proximidade do outro. Estava constrangido pelo americano. A performance era exagerada e ele sentia o peso de ser seu único espectador. Pegou-se novamente sem saber que expressão deveria dar ao rosto. Sentia o odor de café instantâneo no hálito de Glass. “Quero que mude completamente sua maneira de pensar sobre isso. Quando estiver prestes a fazer alguma coisa, seja lá o que for, pare e pense nas conseqüências. Isto é uma guerra, Leonard, e você é um soldado que está metido nela.” Após a saída de Glass, Leonard esperou um pouco, depois abriu a porta, olhou para os dois lados do corredor e precipitou-se rumo ao bebedouro. A água era refrigerada e tinha um gosto metálico. Bebeu por minutos a fio. Ao retornar à sala, Glass estava lá. O americano balançava a cabeça em sinal de desaprovação e exibia a chave que Leonard esquecera de levar consigo. Apertou-a contra a mão do inglês, fechou-lhe os dedos sobre ela e saiu sem dizer nada. Sob a ressaca, Leonard corou. Para se recuperar, enfiou a mão no bolso em busca do endereço. Apoiou-se nas caixas e leu vagarosamente o que estava escrito. Erstes Hinterhaus, fünfter Stock rechts, Adalbertstrasse, 84. Passou a mão pelo fragmento de maço de cigarros. O papel manilha era quase da cor da pele. Seu coração parecia um torniquete, a cada batida sentia-se mais hirto, confrangido. Como faria para abrir todas aquelas caixas nesse estado? Pressionou a maçã do rosto contra a cartolina. Maria. Precisava desafogar, de que outro modo conseguiria espairecer a cabeça? Contudo, o pensamento de que Glass pudesse reaparecer de repente era igualmente insuportável. O absurdo da situação, a vergonha, as conseqüências para a segurança, não sabia o que era pior. Com um gemido, guardou o pedaço de cartolina, alcançou a caixa que estava no alto da pilha e levou-a ao chão. Tirou a faca de caça da bainha e cravou-a na caixa. O papelão não ofereceu resistência, cedeu feito carne, e ele sentiu e ouviu alguma coisa frágil se quebrar ao contato da faca. Estremeceu de pânico. Cortou a tampa fora, afastou as aparas de madeira e amassou as folhas de papel corrugado. Ao retirar o tecido de algodão grosseiro que envolvia o gravador, viu um arranhão comprido varando na diagonal a parte do aparelho que ficaria encoberta pelos carretéis de fita magnética. Um dos botões de controle havia se partido em dois. Com dificuldade, terminou de cortar o resto do papelão. Tirou o gravador da caixa, instalou um plugue e usou a escadinha de biblioteca para colocá-lo na prateleira mais alta. Enfiou o botão quebrado no bolso. Preencheria um formulário solicitando sua reposição. Interrompendo o trabalho apenas para tirar o paletó, Leonard pôs-se a abrir a caixa seguinte. Uma hora depois mais três aparelhos jaziam na prateleira. Era fácil romper a fita que servia de lacre e cortar as tampas. Mas os cantos das caixas eram fortemente reforçados com camadas de papelão e grampos que resistiam à faca. Decidiu não parar para descansar até desencaixotar os dez primeiros aparelhos. Estavam todos nas prateleiras à hora do almoço. Junto à porta, as folhas de papelão formavam uma pilha de um metro e meio de altura, a seu lado as aparas de madeira amontoadas chegavam ao interruptor de luz. A cantina estava deserta, salvo por uma mesa de sargentos da escavação, negros, que não deram a menor atenção a ele. Pediu novamente bife com fritas e soda-limonada. Os sargentos conversavam em voz baixa e riam de maneira furtiva. Leonard fez força para escutar. Distinguiu a palavra “poço” algumas vezes e supôs que estivessem falando imprudentemente sobre o trabalho. Tinha acabado de comer quando Glass apareceu, sentou-se à mesa e indagou como ia o trabalho. Leonard descreveu seus avanços. “Vai levar mais tempo do que você calculava”, concluiu.
Glass disse: “Não vejo problema algum. Você faz dez pela manhã, dez à tarde e dez à noite. Trinta por dia. Em cinco dias está acabado. Qual o problema?”. O coração de Leonard batia desenfreado, pois ele resolvera falar francamente com Glass. Liquidou a soda-limonada de um gole só. “Bem, na realidade, como você sabe, eu entendo de circuitos, não de desencaixotar gravadores. Estou disposto a fazer qualquer coisa, dentro dos limites do razoável, porque sei como isso é importante. Mas espero ter as noites livres.” Glass não retrucou nem alterou o semblante. Continuou olhando para Leonard, esperando por mais. Por fim disse: “Quer discutir sua jornada de trabalho, seus direitos e deveres? É esse o palavrório vermelho dos sindicalistas ingleses de que tanto ouvimos falar? Aqui a coisa funciona assim: a partir do momento em que você recebe acesso a informações confidenciais, seu trabalho é fazer o que te mandam fazer. Se não estiver satisfeito com o serviço, passo um cabo para Dollis Hill e peço que te chamem de volta”. Depois se levantou e desanuviou o rosto. Pôs a mão no ombro de Leonard e disse antes de ir embora: “Agüente firme, parceiro”. Assim, durante uma semana ou mais, Leonard não fez outra coisa a não ser abrir caixas de papelão e queimá-las, instalar plugues em todos os gravadores, etiquetá-los e acondicioná-los nas prateleiras. Fazia jornadas de quinze horas diárias. Levava horas para percorrer o trajeto entre o apartamento e o trabalho. Ia de metrô da Platanenallee até a Grenzallee, onde tomava o ônibus 46 para Rudow. De lá, precisava de vinte minutos para atravessar a pé o nada atrativo trecho de estrada vicinal que conduzia ao armazém. Comia na cantina e num Schnellimbiss da Reichskanzlerplatz. Conseguia pensar nela quando fazia o traslado entre sua casa e o trabalho, quando cutucava com sua vara comprida as folhas de papelão a que ateara fogo, quando engolia em pé sua ração diária de Bratwurst. Sabia que se tivesse um pouco mais de tempo livre, se se sentisse ligeiramente menos cansado, poderia se deixar dominar pela obsessão, poderia ser um homem apaixonado. Precisava passar um tempo sentado sem cair no sono e se devotar mentalmente ao assunto. Necessitava daquele tempo no limite do tédio em que florescem as fantasias. O trabalho em si o obcecava; para uma índole metódica como a sua, mesmo a repetição de tarefas desprezíveis e degradantes tinha um efeito hipnótico e era fonte de autêntica distração. Vestido como se fosse representar Crono numa peça escolar, com um chapéu militar de abas largas na cabeça, uma capa do Exército que ia até os tornozelos, os pés metidos em galochas e equipado com uma comprida vara de madeira, ele passava horas e horas cuidando de sua fogueira. O incinerador resumia-se a um monte de lenha sempre aceso que produzia um fogo fraco e era inadequadamente protegido contra o vento e a chuva por três muretas de tijolo. Perto dali, havia duas dúzias de latas de lixo e, mais adiante, uma oficina. Do lado de lá de uma pista enlameada via-se um posto de carga e descarga, onde caminhões do Exército manobravam o dia inteiro com seu ranger de marchas lentas. Ele recebera ordens rígidas de não abandonar o fogo antes que cada lote de folhas de papelão estivesse inteiramente queimado. Mesmo com o auxílio de gasolina, algumas das folhas não passavam do estado de carvão. Em sua sala, ele se ocupava da pilha cada vez menor de caixas fechadas e do número crescente de gravadores nas prateleiras. Convenceu a si mesmo de que estava esvaziando as caixas por Maria. Era um teste de resistência, o trabalho que deveria executar para provar seu valor. Era a obra que dedicaria a ela. Retalhava as folhas de papelão com sua faca de caça e as destruía por ela. Também pensava como a sala ficaria mais espaçosa quando terminasse aquilo, e traçava planos para rearranjar seu espaço de trabalho. Imaginava-se escrevendo bilhetes joviais para Maria, sugerindo, com estudada indiferença, que eles se encontrassem em algum bar perto do
apartamento dela. Ao chegar à Platanenallee, não muito antes da meia-noite, estava cansado demais para recordar a ordem exata das palavras e completamente exaurido para começar de novo. Muitos anos depois, Leonard não teria a menor dificuldade em se lembrar dos traços de Maria. Seu rosto refulgia para ele à maneira das fisionomias retratadas em certas pinturas antigas. Na realidade, havia algo de quase bidimensional nele: a franja, alta, revelava-lhe a testa, e o queixo, na outra ponta dessa forma perfeitamente oval e alongada, era ao mesmo tempo delicado e vigoroso, de maneira que quando ela inclinava a cabeça daquele seu jeito característico e encantador, seu rosto lhe lembrava um disco, algo que estava mais para uma superfície plana do que para uma esfera, como as que os grandes mestres são capazes de traçar com uma pincelada inspirada. Os cabelos eram particularmente finos, como os de um bebê, e com freqüência esvoaçavam ao vento a despeito das fivelas infantis que as mulheres usavam naquela época. Tinha olhos sérios, mas não tristes, variando entre o verde e o cinza, dependendo da luminosidade. Não era uma fisionomia fascinante, vibrante. Ela costumava devanear, amiúde se entretendo com linhas de pensamento que não se dispunha a compartilhar, e sua expressão mais típica caracterizava-se por uma atenção sonhadora, a cabeça levemente empertigada e inclinada alguns centímetros para o lado, o indicador da mão esquerda brincando com o lábio inferior. Se alguém lhe dirigisse a palavra após alguns instantes de silêncio, ela era capaz de dar um pulo. Era o tipo de rosto e gestual em que os homens tendiam a projetar suas próprias necessidades. Podia-se entrever tenacidade feminina em seu alheamento silencioso, do mesmo modo que se podia enxergar dependência infantil em seu zelo plácido. Por outro lado, é bem possível que na realidade ela fosse um amálgama dessas contradições. Suas mãos, por exemplo, eram pequenas, e ela mantinha as unhas curtas, como as de uma criança, e não as pintava nunca. E todavia davase o trabalho de pintar as unhas do pé de vermelho-vivo ou laranja. Seus braços eram finos e ela era incapaz de levantar pesos surpreendentemente leves, não tinha força sequer para abrir janelas desemperradas. Não obstante, suas pernas, conquanto esguias, eram musculosas e fortes, talvez por conta daquelas pedaladas todas que ela costumava dar antes de ser afugentada pelo melancólico tesoureiro e ter sua bicicleta furtada no porão comunitário. Para Leonard, um rapaz de vinte e cinco anos que não a via fazia cinco dias, que passava o dia labutando com papelão e aparas de madeira, e que guardava como única recordação um pedaço de cartolina com seu endereço, aquele rosto era elusivo. Quanto mais intensamente o evocava, mais provocantemente ele se desintegrava. Para suas fantasias, tinha apenas um esboço com que brincar e, sob o calor do seu escrutínio, até esse debuxo empalidecia. Havia cenas que ele desejava representar, abordagens que tinham de ser testadas, mas tudo que sua memória lhe concedia era uma certa presença, deliciosa e sedutora, porém invisível. E seu ouvido interno permanecia surdo à entonação que ela dera a certa frase em inglês. Começou a se questionar se seria capaz de reconhecê-la caso a visse na rua. Tudo de que tinha certeza era o efeito que lhe haviam causado os noventa minutos passados com ela à mesa de um salão de dança. Ele amara aquele rosto. Agora o rosto se esvaíra e só lhe restava o amor, ao qual ele não tinha como alimentar. Precisava vê-la novamente. Foi no oitavo ou nono dia que Glass o deixou descansar. Todos os gravadores haviam sido desencaixotados e vinte e seis deles tinham sido testados e dotados de ativação de sinal. Leonard permaneceu na cama duas horas a mais do que de hábito, cochilando na atmosfera erótica do leito aquecido. Depois se barbeou, tomou um banho e saiu andando pelo apartamento apenas com uma
toalha na cintura, redescobrindo-o, sentindo-se o grandioso proprietário daquele espaço. Ouviu os decoradores arrastando suas escadas no andar de baixo. Para todas as outras pessoas aquele era um dia de trabalho, talvez segunda-feira. Finalmente dispunha de tempo para tentar usar o pó de café. Não foi um completo sucesso, a borra e o leite em pó não dissolvido giravam na xícara com o café coado, mas ficou feliz de poder se empanturrar sozinho com o chocolate belga, enfiando os pés entre as lâminas do aquecedor pelando de quente e planejando seus próximos passos. Tinha uma carta dos pais para ler. Usando uma faca, abriu-a com indiferença, como se abrir a correspondência fosse algo que ele fizesse todos os dias enquanto tomava o café-damanhã. “Estamos escrevendo só para agradecer a sua carta e dizer que ficamos felizes em saber que você está bem instalado...” Tencionava trabalhar no despretensioso bilhete para Maria, mas não lhe pareceu correto começá-lo antes de estar completamente vestido. Então, já de roupa e com a carta escrita (Foi muito gentil da sua parte me dar o seu endereço em nosso encontro da semana passada no Resi, por isso espero que não lhe desagrade ter notícias minhas e que não se sinta obrigada a responder...), percebeu que não suportaria ter de esperar no mínimo três dias por uma resposta. A essa altura ele já estaria de volta à jornada de quinze horas diárias no quimérico mundo de sua sala sem janelas. Serviu-se de uma segunda xícara de café. A borra havia assentado no fundo do bule. Teve outra idéia. Levaria o bilhete até o apartamento para que ela o encontrasse ao chegar do trabalho. Escreveria que passara casualmente por ali e que estaria em determinada Kneipe de uma das ruas das redondezas às seis da tarde. Essas informações ele preencheria mais tarde. Pôs imediatamente mãos à obra. Contudo, mesmo depois de meia dúzia de rascunhos, não estava satisfeito. Queria ser eloqüente e trivial. Era importante que ela pensasse que ele havia rabiscado o bilhete diante de sua porta, que ele subira na esperança de a encontrar em casa e que só então se lembrara de que ela devia estar no trabalho. Não queria que ela se sentisse pressionada e, mais importante, não queria parecer ansioso e ridículo. Na hora do almoço, as numerosas tentativas amontoavam-se à sua volta e ele tinha a versão final nas mãos. Vinha passando pelo bairro e resolvi subir para dar um alô. Enfiou o bilhete num envelope e cometeu o equívoco de fechá-lo. Abriu-o com a faca, imaginando-se no lugar dela, sozinha à mesa, recém-chegada do trabalho. Desdobrou a carta e leu duas vezes o conteúdo, como ela possivelmente o faria. Julgou-a perfeita. Encontrou outro envelope e levantou-se. Ainda tinha a tarde toda pela frente, mas sabia que agora não havia nada que pudesse fazer para se impedir de sair para a rua. Foi até o quarto e vestiu seu melhor terno. Tirou o pedaço de cartolina gasto do bolso da calça que usara no dia anterior, embora já soubesse o endereço de cor. O mapa da cidade estava aberto em cima da cama desfeita. Pensou que a gravata de tricô carmim lhe cairia bem. Enquanto abria o estojo de viagem contendo apetrechos para engraxar sapatos e lustrava seu melhor par de sapatos pretos, estudou a rota que percorreria. Para ocupar o tempo e saborear a expedição, seguiu a pé até a estação da Ernst-Reuter-Platz antes de tomar o metrô para Kottbusser Tor, em Kreuzberg. Chegou à Adalbertstrasse um pouco cedo demais. A caminhada até o número 84 levaria menos de cinco minutos. Ali deparou com os maiores estragos causados pelo bombardeio que vira até então. O lugar já seria bastante deprimente sem as ruínas. Viam-se blocos de apartamentos cujas fachadas tinham sido retalhadas por tiros de armas leves, especialmente em volta das portas e janelas. A cada dois ou três prédios havia um sem o teto e com o interior reduzido a escombros. Estruturas inteiras haviam
desabado e os destroços permaneciam no lugar onde tinham caído, com as vigas dos telhados e as calhas enferrujadas despontando nos montes de entulho. Depois de quase duas semanas na cidade, período durante o qual fora às compras, saíra para comer, fizera o trajeto diário entre o apartamento e o armazém, e trabalhara, o orgulho inicial que sentira por sua destruição parecialhe agora pueril, repugnante. Ao cruzar a Oranienstrasse, viu uma obra em andamento num terreno de onde os escombros haviam sido removidos, o que o deixou contente. Também viu um bar e rumou para lá. Chamavase Bei Tante Else e serviria a seus propósitos. Tirou o bilhete do envelope e acrescentou o nome e a rua no espaço que deixara em branco. Depois, pensando melhor, resolveu entrar. Parou ao atravessar a cortina de couro para acostumar a vista à escuridão. O lugar era estreito e acanhado, quase um túnel. Acolá do balcão um grupo de mulheres bebia a uma das mesas. Uma delas tocou a base do pescoço com o dedo a fim de chamar a atenção para a gravata de Leonard e apontou. “Keine Kommunisten hier!” As amigas riram. Por um instante, suas maneiras e seu falso glamour levaram-no a pensar que elas talvez tivessem acabado de chegar de uma festa animada no trabalho. Então se deu conta de que eram prostitutas. Notou também a presença de homens que dormiam com a cabeça apoiada nas mesas. Quando se virou para sair, outra mulher do mesmo grupo o chamou, provocando novas risadas. De volta à calçada, hesitou. Isso não era lugar para um encontro com Maria. Tampouco queria ficar ali sozinho enquanto a esperava. Por outro lado, não poderia alterar o bilhete sem estragar sua aparência trivial. Por isso decidiu que esperaria do lado de fora e, quando Maria aparecesse, pedir-lhe-ia desculpas e confessaria seu desconhecimento da área. Pelo menos seria algo sobre o que conversar. Quem sabe ela não achasse graça na história. O número 84 era um prédio de apartamentos igual aos demais. A linha curva de marcas de bala acima das janelas do andar térreo provavelmente fora conseqüência de rajadas de metralhadora. Atravessando a ampla entrada, ele chegou a um sombrio pátio interno. O mato vicejava por entre as pedras do calçamento. Latas de lixo recém-esvaziadas jaziam tombadas de lado. O lugar estava quieto. As crianças ainda não haviam voltado da escola. Dentro dos apartamentos, lanches ou jantares eram preparados. O cheiro de gordura e cebolas sendo cozidas chegava-lhe ao nariz. Subitamente, sentiu falta de seu bife com fritas de todos os dias. Do outro lado do pátio ficava o que ele imaginou ser a Hinterhaus. Foi até lá e entrou por uma porta estreita. Viu-se na base de uma íngreme escadaria de madeira. Em cada andar havia duas portas. Galgou os degraus em meio a choro de bebês, música de rádio, risadas e, mais acima, um homem que chamava: “Papai? Papai? Papai?”, com uma ênfase desconsolada na segunda sílaba. Sentiu-se um intruso. A elaborada desonestidade de sua missão começou a afligi-lo. Tirou o envelope do bolso, preparando-se para enfiá-lo por baixo da porta e descer o mais rápido possível. O apartamento ficava no último andar. O forro era mais baixo que nos outros andares, e isso contribuiu para aumentar sua ansiedade em sair dali. Recentemente pintada de verde, a porta dela se destacava das demais. Ele empurrou o envelope pela soleira e então fez uma coisa estranha, inexplicável. Pôs a mão na maçaneta e pressionou-a para baixo. Talvez esperasse encontrá-la trancada. Talvez fosse apenas mais uma daquelas pequenas ações sem sentido de que o dia-a-dia está repleto. A porta cedeu e escancarou-se. E lá estava ela, bem defronte dele.
6.
Nos antigos edifícios de Berlim, os apartamentos do bloco dos fundos eram tradicionalmente os piores e mais apertados. Haviam a certa altura abrigado os empregados cujos patrões ocupavam as instalações mais luxuosas do bloco da frente, voltado para a rua. As janelas dos apartamentos dos fundos davam para o pátio interno ou para o estreito espaço que separava o prédio do edifício vizinho. Era portanto um mistério, que Leonard jamais se preocupou em elucidar, o fato de que os raios de fim de tarde do sol invernal pudessem se projetar pela porta aberta do banheiro e atravessar o assoalho entre eles, formando uma coluna oblíqua de luz rubrodourada que realçava as partículas de pó rodopiando no ar. Talvez fosse apenas o reflexo de alguma janela adjacente, pouco importava. Na hora pareceu um sinal auspicioso. Bem em frente à cunha de sol jazia o envelope. Do lado de lá, completamente imóvel, estava Maria. Ela trajava uma saia xadrez de lã grossa e um suéter vermelho de caxemira — peça de fabricação americana que ela ganhara de presente do devotado tesoureiro e que, por não ter sido suficientemente desprendida ou cruel, não devolvera. Olhavam um para o outro através da coluna de luz, porém nada diziam. Leonard tentava formular um cumprimento que fosse também um pedido de desculpas. Mas como se esquivar da responsabilidade por uma ação tão intencional quanto abrir uma porta? Confundia-lhe também a alegria de ver a beleza dela confirmada. Não fora sem mais que ficara tão perturbado. De sua parte, nos segundos que se passaram antes de o reconhecer, Maria imobilizara-se de medo. A súbita aparição reavivou memórias de dez anos antes, quando soldados, normalmente em duplas, escancaravam as portas sem se anunciar. Leonard interpretou mal sua expressão, tomando-a pela compreensível hostilidade que as pessoas sentem em relação ao intruso que lhes invade o lar. E também se equivocou ao julgar como um sinal de perdão o débil, fugaz sorriso de reconhecimento e alívio. Pondo a sorte à prova, deu dois passos à frente e estendeu a mão. “Leonard Marnham”, disse. “Lembra-se? Aquela noite no Resi?” Embora não sentisse mais correr perigo, Maria deu um passo para trás e cruzou os braços. “O que é que você quer?” Acabou favorecendo a Leonard que uma pergunta assim direta o deixasse tão desconcertado. Ele enrubesceu, gaguejou e, por fim, à guisa de resposta, tirou o envelope do bolso e o entregou. Ela abriu o envelope, desdobrou a folha de papel e, antes de iniciar a leitura, levantou os olhos para se certificar de que ele não estava se aproximando. Ah, o dardejar daqueles olhos sérios! Leonard não sabia onde se enfiar. Lembrou-se de quando o pai lia em sua presença os boletins medíocres que trazia da escola ao final de cada semestre. Exatamente como havia imaginado, ela leu o bilhete duas vezes. “O que significa esse ‘dar um alô’? Abrir a porta da pessoa sem mais nem menos, é isso que é ‘dar um alô’?” Leonard ia se explicar, mas ela começou a rir. “E você queria que eu fosse ao Bei Tante Else? Justo ao Tante Else, o bar das putas?” Para sua surpresa, ela pôs-se a cantar. Era uma canção que vivia tocando na Voz da América. “O que o fez pensar que eu era uma dessas
molherzinhas?” Ridicularizado pela infinita doçura de uma jovem alemã tentando imitar o sotaque do Brooklyn! Leonard pensou que talvez fosse desmaiar. Sentia-se arrasado, extasiado. No afã de recuperar o controle de si, usou o mindinho para ajeitar os óculos no nariz. “Na verdade”, começou, mas ela passara por ele, rumo à porta, dizendo com severidade fingida: “E por que veio me ver sem a flor no cabelo?”. Maria fechou e trancou a porta. Juntou as mãos e era toda sorrisos. Parecia mesmo verdade, não se continha de felicidade por vê-lo. “Bom”, disse ela, “não está na hora do chá?” A sala onde se encontravam tinha aproximadamente três metros quadrados. Leonard conseguia encostar a palma da mão no teto sem precisar ficar na ponta dos pés. Da janela avistava-se uma parede de janelas similares do outro lado do pátio. Chegando mais perto e olhando para baixo, podia-se ver as latas de lixo que jaziam tombadas no chão. Para que ele aguardasse sentado enquanto ela preparava o chá no cubículo acortinado, Maria tirou uma gramática inglesa de nível avançado de cima da única cadeira confortável que tinha para oferecer. A cada expiração, Leonard enxergava distintamente o ar fumegante que lhe saía das narinas, de modo que preferiu permanecer de casaco. Havia se acostumado aos interiores superaquecidos do armazém dos americanos, e todos os cômodos de seu apartamento dispunham de aquecedores poderosos, cuja temperatura era regulada em algum lugar no subsolo. Estava tiritando, mas até o frio era prenhe de possibilidades. Compartilhava-o com Maria. Junto à janela ficava a mesa de jantar, decorada com um cacto numa tigela. Ao lado do cacto via-se uma vela fincada no gargalo de uma garrafa de vinho. Havia duas cadeiras modestas, uma estante de livros e um tapete persa manchado, estendido sobre as tábuas desnudas do assoalho. Ao lado do que Leonard imaginou ser a porta do quarto, afixada à parede notava-se uma reprodução em preto-e-branco dos Girassóis de van Gogh, recortada de uma revista. Não havia mais nada para ver, salvo pela mixórdia de sapatos amontoados num canto, ao redor de uma fôrma de sapateiro. A sala de Maria não podia estar mais distante do atravancamento ordenado e lustroso da sala de estar dos Marnham, em Tottenham, com seu rádio-gramofone de mogno e a Enciclopédia Britânica acondicionada num estojo especial. Esta sala não fazia exigências. Podia-se partir no dia seguinte de mãos abanando e sem remorsos. Era um aposento que conseguia ser simultaneamente sóbrio e caótico. Era sujo e acolhedor. Ali a pessoa podia dizer exatamente o que estava sentindo. Podia recomeçar consigo mesma. Para alguém que crescera evitando esbarrar nas pequenas estatuetas de porcelana da mãe, inclusive se desvelando para não marcar as paredes com os dedos, era estranho e maravilhoso que esta sala simples e despojada pertencesse a uma mulher. Ela esvaziou um bule de chá na pequena pia da cozinha, onde duas panelas equilibravam-se sobre uma pilha de pratos sujos. Ele permanecia sentado à mesa de jantar, observando o grosso tecido de sua saia, atento ao modo como a saia meneava em movimentos retardados, reparando no suéter de caxemira que chegava apenas até o início do plissado e nas meias de futebol com que ela aquecia os pés metidos em pantufas. Esse monte de lã invernal tinha um efeito tranqüilizador sobre Leonard, que se deixava facilmente intimidar por mulheres vestidas com roupas provocantes. A lã sugeria uma intimidade mansa, um corpo aquecido que se ocultava com aconchego e recato debaixo das dobras da roupa. Ela resolvera preparar o chá à moda inglesa. Tinha uma caixinha de chá comemorativa da coroação da rainha Elizabeth ii e estava escaldando o bule. Isso também contribuía para deixar Leonard à vontade. Em resposta à pergunta que ele lhe fizera, Maria contou que quando começara a trabalhar na
12a Oficina de Blindados, a reme, sua função era fazer chá três vezes ao dia para o comandante e o subcomandante. Ela colocou na mesa duas canecas brancas do Exército, iguaizinhas às que ele tinha em seu apartamento. Ele já fora convidado para um chá por outras moças, mas jamais vira uma que não se desse o trabalho de servir o leite numa jarra. Maria sentou-se de frente para ele e ambos aqueceram as mãos em volta das grandes canecas. Leonard sabia por experiência própria que, se não fizesse um esforço extraordinário, haveria um padrão à sua espera: uma pergunta educada levaria a uma resposta cortês e esta a outra indagação de mesmo feitio. Faz tempo que mora aqui? Fica muito longe o seu trabalho? Está de folga? A ladainha teria começado. Só momentos de silêncio interromperiam a implacável série de perguntas e respostas. Separados por uma distância imensa, eles teriam de gritar um para o outro do alto de montanhas adjacentes. Finalmente, ele ansiaria pelo alívio de ir embora com seus próprios pensamentos, após o constrangimento das despedidas. Mesmo agora, já haviam recuado em relação à intensidade dos cumprimentos iniciais. Ele fizera uma pergunta sobre seu modo de preparar o chá. Mais uma como essa e estaria tudo perdido. Ela havia posto a caneca sobre a mesa e enfiara as mãos nos bolsos da saia. Com as pantufas nos pés, dava batidinhas ritmadas no tapete. Mantinha a cabeça aprumada. Seria um sinal de expectativa, ou estaria marcando o compasso da melodia que tinha na cabeça? Seria ainda “Take back that mink, those old worn out poils...”? Ele nunca estivera em companhia de uma mulher que ficasse sapateando, mas sabia que não podia entrar em pânico. Em seu íntimo, havia o pressuposto, alheio a qualquer averiguação, sem nem mesmo chegar a ser algo de que ele tivesse consciência, de que a responsabilidade pelos acontecimentos era toda dele. Se não conseguisse encontrar as palavras desinibidas que os trariam mais para perto um do outro, a derrota seria apenas sua. O que poderia dizer que não fosse banal nem indiscreto? Ela erguera novamente a caneca e agora o fitava com um meio sorriso, sem separar os lábios. “Não se sente solitária vivendo aqui sozinha?” soaria por demais insinuante. Poderia pensar que ele estava se oferecendo para vir morar com ela. Em vez de agüentar o prolongamento do silêncio, conformou-se, afinal, com a perspectiva de uma conversa insossa e abriu a boca para perguntar: “Faz tempo que mora aqui?”. Mas ela o atropelou com uma arremetida imprevista, dizendo: “Como será que você fica sem óculos? Me mostre, por favor”. Alongou esta última palavra mais do que qualquer pessoa que tivesse o inglês como língua materna consideraria razoável, fazendo um suave tremor se alastrar pelo estômago de Leonard. Ele arrancou os óculos do rosto e piscou. Como até dez metros de distância sua vista não era de todo má, os traços de Maria perderam apenas parcialmente a nitidez. “Veja só”, disse ela calmamente. “É como imaginei. Seus olhos são lindos e todavia permanecem o tempo todo escondidos. Alguém já lhe disse como são bonitos os seus olhos?” A mãe de Leonard costumava dizer algo dessa natureza quando ele fez quinze anos e passou a ter de usar óculos, mas isso era absolutamente irrelevante. Ele sentia estar levitando pela sala. Ela pegou os óculos, fechou as hastes e deixou-os junto ao cacto. A voz dele soou sufocada aos próprios ouvidos. “Não, ninguém nunca me disse isso.” “Nenhuma outra moça?” Ele abanou a cabeça. “Quer dizer que sou a primeira a descobrir você?” Em sua expressão havia jocosidade, mas não escárnio. Sentiu-se tolo, imaturo, por sorrir de maneira tão franca ao elogio, mas não havia nada que
pudesse fazer a respeito. Maria disse: “E que sorriso”. Afastou uma mecha de cabelo dos olhos. Sua testa, tão alta e oval, lembrava a Leonard a suposta aparência de Shakespeare. Não sabia como dizer isso a ela. Optou por pegar a mão que ia concluir o movimento e ficaram assim, em silêncio, por um ou dois minutos, como no primeiro encontro. Ela entrelaçou seus dedos aos dele, e foi nesse momento, com maior intensidade do que depois, no quarto, ou ainda mais tarde, quando se puseram a falar mais livremente de si, que Leonard se sentiu atado a ela de forma irrevogável. Suas mãos encaixavam-se perfeitamente, unindo-se num aperto intrincado, inquebrantável, repleto de pontos de contato. Sob a luz débil e sem os óculos, ele não conseguia distinguir quais dos dedos eram seus. Sentado nessa sala fria e a cada instante mais escura, ainda envolto na capa de chuva, agarrado à mão dela, sentiu que estava se desfazendo de sua vida. O abandono era delicioso. Algo brotava dele, fluindo da palma de sua mão para a dela, e algo retornava, subindo por seu braço, espalhando-se pelo peito, comprimindo-lhe a garganta. Um só pensamento vinha-lhe à cabeça, repetindo-se sem parar: Então é isso, então é isso, então é isso... Maria enfim recolheu a mão, cruzou os braços e olhou para ele, expectante. Sem outro motivo além da fisionomia séria com que ela o mirava, Leonard começou a se explicar: “Devia ter vindo antes”, disse, “mas tenho trabalhado dia e noite. E, na verdade, não sabia se você iria gostar de me ver, ou mesmo se me reconheceria”. “Tem outra amiga em Berlim?” “Oh, não, nada disso.” Não lhe questionou o direito de fazer a pergunta. “E na Inglaterra, tinha namoradas?” “Não muitas.” “Quantas?” Hesitou antes de se arrojar à verdade. “Bom, na realidade, nenhuma.” “Nunca teve namorada?” “Não.” Maria inclinou-se para a frente. “Você quer dizer que nunca...” Não agüentaria ouvir a expressão, fosse qual fosse, que ela estava prestes a usar. “Não, nunca.” Ela pôs a mão na boca para abafar um grasnido de risada. Nos idos de 1955 não era um fenômeno tão extraordinário assim que, com vinte e cinco anos completos, um homem do meio sociocultural e do temperamento de Leonard ainda não tivesse tido nenhuma experiência sexual. Mas era singular que o confessasse. E ele imediatamente se arrependeu. Ela conseguira controlar a risada, mas agora enrubescia. Foram os dedos entrelaçados que o haviam feito pensar que conseguiria se virar sem ter de fingir ser o que não era. Nessa sala acanhada e espartana, com sua pilha de sapatos sortidos, cuja dona era uma mulher que vivia sozinha e não perdia seu tempo guarnecendo bandejas de chá com jarras de leite e toalhinhas de renda, deveria ser possível lidar com verdades sem enfeites. E de fato era. Se Maria corou, foi por causa da vergonha que sentiu pela risada que, como sabia, Leonard interpretaria de forma equivocada. Pois a risada não fora senão uma descarga nervosa de alívio. Vira-se subitamente desobrigada das pressões e rituais da sedução. Não teria de assumir um papel convencional, nem seria julgada pelo modo como o representasse, e seria poupada da comparação com outras mulheres. Seu receio de ser fisicamente maltratada
eclipsara-se. Não seria forçada a fazer nada que não quisesse. Estava livre, ambos estavam livres para inventar as bases de seu relacionamento. Podiam ser parceiros na invenção. E ela havia descoberto por si mesma esse inglês tímido de olhar fixo e cílios compridos, encontrara-o primeiro e ficaria com ele todinho para si. Esses pensamentos ela só viria a formular mais tarde, já sozinha. Na hora eles irromperam com a surriada de alívio e hilaridade que ela reprimiu, transformando em grasnido. Leonard sorveu um longo gole de chá, descansou a caneca na mesa e soltou um “Ah” cordial e inconvincente. Recolocou os óculos e ficou em pé. Após a experiência das mãos dadas, nada parecia mais desalentador do que ir embora, seguir o caminho de volta pela Adalbertstrasse, descer até o metrô e chegar a seu apartamento em meio à escuridão do anoitecer para encontrar a xícara do café-da-manhã e os tolos rascunhos de sua carta espalhados pelo chão. Viu tudo isso diante de si enquanto ajustava o cinto da gabardina, mas sabia que com sua confissão havia cometido um humilhante erro estratégico e devia partir. Que Maria enrubescesse por ele era algo que a tornava ainda mais adorável, servindo igualmente para lhe dar uma idéia da dimensão de sua mancada. Ela também havia se levantado e postara-se entre ele e a porta, bloqueando-lhe a passagem. “Preciso mesmo ir”, explicou Leonard, “sabe como é, o trabalho e tudo mais.” Quanto pior se sentia, mais débil seu tom de voz se tornava. Ao desviar dela, elogiou: “O seu chá é excelente”. Maria disse: “Gostaria que você ficasse mais um pouco”. Era tudo que ele desejava ouvir, mas a essa altura estava abatido demais para encenar uma mudança de idéia, deixara-se absorver pela própria derrota. Rumou para a porta. “Tenho um encontro às seis.” A mentira foi uma tentativa desesperada de se entregar ao martírio. Concomitantemente, estava pasmo consigo mesmo. Ele queria ficar, ela queria que ele ficasse, e lá estava ele, insistindo em ir. Era como se aquilo não fosse com ele, e não havia nada que pudesse fazer, não conseguia se forçar a caminhar em direção a seus próprios interesses. A autocomiseração obliterava-lhe o habitual e meticuloso bom senso, ele via-se num túnel cuja única saída conduzia a seu fascinante aniquilamento. A falta de familiaridade fez com que Leonard se atrapalhasse com a fechadura. Maria aguardava bem atrás dele. Mesmo que isso ainda lhe causasse espanto, ela estava em certa medida habituada à suscetibilidade do orgulho masculino. Apesar da confiança aparente, os homens se ofendiam com muita facilidade. Seu estado de ânimo era extremamente volúvel. Surpreendidos em meio à turbulência de emoções inconfessas, tendiam a ocultar sua insegurança sob a máscara da agressividade. Ela tinha trinta anos, sua experiência não era vasta, e tomava como exemplos principalmente o marido e um ou dois soldados violentos com os quais havia se relacionado. O sujeito que pelejava para sair pela porta da frente do seu apartamento parecia-se menos com os homens que ela conhecera do que com ela própria. Sabia exatamente como ele estava se sentindo. Quando a pessoa sente pena de si mesma, esforça-se por tornar as coisas ainda piores. Pôs delicadamente a mão nas costas dele, mas o casaco o impediu de se dar conta disso. Ele achava que havia apresentado desculpas plausíveis e por isso estava livre para partir com o seu tormento. Para Maria, que tinha a libertação de Berlim e o casamento com Otto Eckdorf atrás de si, a exibição de qualquer tipo de vulnerabilidade por parte de um homem sugeria uma personalidade da qual era possível se aproximar. Leonard finalmente conseguiu abrir a porta e voltou-se para dizer adeus. Teria realmente acreditado que suas boas maneiras e o compromisso que inventara a haviam enganado, ou que
seu desespero era invisível? Estava pedindo desculpas por ter de sair correndo e agradecia mais uma vez pelo chá e estendia-lhe a mão — a mão! —, quando ela arrancou seus óculos do rosto e, com passadas largas, voltou com eles para a sala. Antes mesmo que Leonard viesse atrás dela, Maria já os enfiara debaixo da almofada da cadeira. “Escute”, disse ele, e, deixando que a porta se fechasse atrás de si, deu um passo, depois outro, avançando apartamento adentro. E estava feito, havia entrado de novo. Ele, que queria ficar, agora tinha um motivo para isso. “Sinto muito, mas preciso mesmo ir.” Estacou no meio da sala diminuta, indeciso, ainda tentando simular sua hesitante forma inglesa de ultraje. Ela permaneceu perto dele a fim de que ele pudesse enxergá-la com nitidez. Como era bom não se sentir amedrontada por um homem! Isso lhe dava a oportunidade de gostar dele, de ter desejos que não eram meras reações aos desejos dele. Pôs as mãos de Leonard entre as suas. “Acontece que ainda não acabei de apreciar seus olhos.” Então, com a desenvoltura que Russell elogiara nas moças berlinenses, acrescentou: “Du Dummer! Wenn es für dich das erste Mal ist, bin ich sehr glücklich”. Se esta é a sua primeira vez, então eu sou uma mulher de muita sorte. Foi o “esta” que o fez ficar, que o trouxe de volta. Tudo o que estavam fazendo ali dizia respeito a “esta”, à sua primeira vez. Olhando para baixo, fitou o rosto dela, aquele disco que, para dar conta dos dezoito centímetros de altura que os separavam, mantinha-se bem inclinado para trás. Da terça parte superior da bem-acabada superfície oval, os cabelos de bebê pendiam em fios e mechas soltos. Não era a primeira mulher que ele beijava, mas era a primeira que parecia estar gostando. Encorajado, enfiou a língua em sua boca, do modo como, imaginava, devia fazer. Ela recuou o rosto alguns centímetros. Disse: “Langsam”. Não precisamos nos apressar. Então se beijaram com uma delicadeza provocante. Tocavam-se apenas com a ponta das línguas, e foi muito mais gostoso. Depois Maria se afastou e, passando por ele, tirou um aquecedor elétrico do meio da pilha de sapatos. “Não há por que ter pressa”, repetiu. “Podemos passar uma semana inteira com os braços assim.” E o abraçou para mostrar como era. “Parece bom”, disse ele. “Não seria nada mal.” A empolgação em seu tom de voz era evidente. Seguiu-a até o quarto. Era um cômodo maior do que a sala. Havia um colchão duplo no chão, outra novidade. Uma das paredes era ocupada por um deprimente guarda-roupa de madeira envernizada. Junto à janela via-se uma cômoda e uma caixa de fibra de linho. Ele sentou em cima da caixa e observou-a ligar o aquecedor na tomada. “Está frio demais para tirar a roupa. É melhor a gente se deitar assim mesmo.” Era verdade, podiam ver o vapor saindo a cada expiração. Ela chutou as pantufas para longe, ele desamarrou os cadarços dos sapatos e tirou o casaco. Entraram debaixo do edredom, abraçaram-se do jeito que ela havia prescrito e beijaram-se de novo. Não foi preciso esperar uma semana, bastaram algumas horas. Pouco depois da meia-noite Leonard já podia se considerar um iniciado no sentido mais preciso do termo, era enfim um homem verdadeiramente adulto e maduro. Todavia, a linha que separava a inocência da experiência era arrebatadoramente vaga. À medida que aumentava o calor na cama e, em grau bem menor, no quarto, eles começaram a se ajudar a tirar as roupas. À medida que crescia a pilha de roupas no chão — suéteres, camisas grossas, roupa íntima de lã e meias de futebol —, a cama e o próprio tempo tornaram-se mais espaçosos. Deliciando-se com a possibilidade de moldar o acontecimento às suas necessidades, Maria disse que chegara o momento de ele a beijar e lamber toda, dos pés à cabeça. Foi assim que, ao chegar à metade de seu serviço
caracteristicamente minucioso, Leonard penetrou-a pela primeira vez com a língua. Esse foi, sem dúvida, o divisor de águas em sua vida. Meia hora depois, porém, sentiu como igualmente primordial o momento em que ela o colocou na boca e o lambeu e chupou e fez uma coisa com os dentes. Em termos de sensação física propriamente dita, foi o ponto alto daquelas seis horas, e talvez de toda a sua vida. Houve um grande interlúdio, em que permaneceram deitados e, em resposta às perguntas dela, Leonard contou sobre sua escola, seus pais e seus três solitários anos na Birmingham University. De modo mais reticente, Maria falou sobre seu trabalho, sobre o clube de ciclismo e o tesoureiro apaixonado, e sobre seu ex-marido Otto, que havia sido um sargento do Exército e agora era um beberrão. Dois meses antes, após um ano de ausência, ele aparecera para lhe dar duas bofetadas na cara e arrancar dinheiro dela. Não fora a primeira vez que a intimidara, mas os policiais do bairro faziam vista grossa. Às vezes até pagavam bebidas a ele. Otto os havia convencido de que era um herói de guerra. A história embotou temporariamente o desejo. Galantemente, Leonard vestiu-se e desceu para ir à Oranienstrasse comprar uma garrafa de vinho. Pessoas e carros circulavam pelas ruas sem saber das grandes mudanças. Quando voltou, ela estava com um roupão masculino e suas meias de futebol em frente ao fogão, preparando um omelete com batatas e cogumelos. Comeram-no na cama com pão preto. O Mosel era açucarado e rascante. Beberam-no nas canecas de chá e teimaram em dizer que era um bom vinho. Sempre que punha um pedaço de pão na boca, ele sentia o cheiro dela nos dedos. Ela havia trazido para o quarto a vela espetada na garrafa e resolveu acendê-la. A esqualidez aconchegante das roupas e dos pratos engordurados submergiu nas sombras. O cheiro de enxofre do fósforo ficou no ar e mesclou-se com o odor impregnado em seus dedos. Ele tentou recordar e relatar de maneira divertida um sermão que ouvira certa vez na escola sobre o demônio, a tentação e o corpo das mulheres. Todavia, não entendendo o espírito da coisa, ou pensando que não fazia sentido ele contar aquela história e ainda por cima a achar engraçada, Maria emburrou e ficou quieta. Permaneceram deitados, apoiando-se com os cotovelos na cama, bebericando o vinho em meio à penumbra. Passados alguns instantes, ele tocou as costas da mão dela e disse: “Desculpe. É uma história boba”. Ela o perdoou virando a mão e apertando-lhe os dedos. Então Maria se enroscou no braço dele e dormiu por meia hora. Durante esse tempo, Leonard permaneceu deitado de costas, orgulhoso de si. Estudou-lhe o rosto — como suas sobrancelhas eram rarefeitas, como seu lábio inferior intumescia quando ela estava dormindo — e imaginou como seria ter uma criança, uma filha, que adormecesse recostada a ele dessa maneira. Quando acordou, ela estava revigorada. Queria que ele deitasse por cima dela. Leonard acomodou-se e chupou-lhe os mamilos. Beijaram-se e dessa vez os avanços impetuosos de sua língua foram bem-vindos. Serviram-se do restante do vinho e ela tiniu sua caneca na dele. Do que se seguiu, ele só guardou duas coisas na memória. A primeira era a sensação de que aquilo era um pouco como assistir a um filme de que todo mundo andasse falando: algo difícil de imaginar antecipadamente, mas, uma vez ali, a postos, em parte já sabido, em parte inesperado. A sensação de mergulhar na maciez viscosa, por exemplo, correspondera a todas as suas expectativas — a bem da verdade, talvez as tivesse até superado —, ao passo que nada em suas vastas leituras o havia preparado para o contato crespo que sentiu quando seus pêlos púbicos emaranharam-se nos dela. A segunda recordação era embaraçosa. Ele tinha lido tudo sobre ejaculação precoce e se perguntava se iria sofrer do problema e na hora lhe pareceu que sim. Não era o movimento que ameaçava fazê-lo entregar os pontos. Era olhar para o rosto dela.
Maria estava deitada de costas, pois eles eram o que ela o ensinara a chamar de auf Altdeutsch. O suor alterara seu penteado, transformando-lhe as mechas em espirais coleantes, e ela mantinha os braços esticados atrás da cabeça, com as mãos espalmadas, numa pose que lembrava uma personagem de história em quadrinhos anunciando sua rendição. Ao mesmo tempo, fitava-o com a expressão de uma instrutora delicada. Essa combinação de abandono e atenção amorosa é que era deliciosa demais de se ver, perfeita demais para ele, e ele tinha de desviar os olhos, ou fechá-los e pensar em... em... Sim, num diagrama de circuito, um diagrama particularmente belo e intrincado que ele memorizara enquanto instalava as unidades de ativação de sinal nos gravadores Ampex.
7.
Leonard levou quatro semanas para testar todos os gravadores e instalar as unidades de ativação de sinal. Trabalhava satisfeito na sala sem janelas. O próprio caráter repetitivo de sua rotina o absorvia. Quando outros dez aparelhos ficaram prontos, um soldado jovem veio, colocou-os num carrinho com rodas de borracha e os levou pelo corredor até a sala de gravações. A essa altura já havia mais pessoas trabalhando lá, algumas delas inglesas. Mas Leonard não lhes havia sido apresentado, por isso os evitava. Nos momentos de descanso, gostava de tirar um cochilo e, na cantina, sempre escolhia uma mesa que estivesse vazia. Glass aparecia uma ou duas vezes por semana, sempre com pressa. Como todos os outros americanos, costumava mascar chicletes, mas com um furor que lhe era bem peculiar. Isso, além dos semicírculos lívidos sob os olhos, dava-lhe a aparência de um ansioso roedor notívago. Sua barba não tinha fios brancos, mas parecia menos negra. Estava ressecada e sem corte. Suas maneiras, porém, permaneciam inalteradas. “Está tudo dentro do prazo, Leonard”, dizia da porta, apressado demais para entrar. “Estamos quase do outro lado da Schönefelder Chaussee. Tem gente nova chegando todos os dias. Este lugar está fervendo!” E já havia se ido antes que Leonard tivesse tido tempo de apoiar o ferro de soldar na mesa. Era verdade, de meados de fevereiro em diante ficou mais difícil encontrar uma mesa vazia na cantina. Em meio ao alarido de vozes, ele conseguia distinguir sotaques ingleses. Agora, quando pedia seu bife, recebia automaticamente uma xícara de chá, à qual três ou quatro colheres de açúcar haviam sido de antemão adicionadas. Em benefício dos Vopos e seus binóculos, muitos dos ingleses trajavam uniformes do Exército americano, com emblemas do corpo de sinaleiros. Já estavam lá os escavadores de túneis verticais, os especialistas que sabiam como cavar para cima e abrir caminho por entre a terra fofa para chegar aos cabos telefônicos sem que o teto desabasse sobre suas cabeças. Também haviam chegado os sinaleiros britânicos, encarregados de instalar os amplificadores perto da extremidade avançada do túnel. Leonard reconhecia algumas caras de Dollis Hill. Um ou outro desses sujeitos dirigia-lhe acenos com a cabeça, mas nenhum se aproximava. Talvez agissem assim por desvelo com a questão da segurança, mas o mais provável é que considerassem que um assistente técnico não estava à altura deles. Jamais haviam falado com ele em Londres. E na cantina a segurança não era rigorosa. Com o aumento do número de bocas que ali se alimentavam, também cresceu a vozearia das conversas. Glass teria ficado indignado. Em colóquios reservados, pequenos grupos de todas as seções do edifício falavam sobre o trabalho. Comendo sozinho, imerso em seus pensamentos sobre Maria, ainda atônito com as mudanças que haviam virado sua vida pelo avesso, Leonard às vezes se deixava relutantemente arrastar por relatos em andamento em alguma mesa próxima. Seu mundo encolhera, reduzindo-se a uma sala sem janelas e à cama que compartilhava com Maria. No resto do apartamento dela o frio era simplesmente insuportável. Tornara-se um estranho ali e agora, contra a própria vontade, estava se transformando num abelhudo, num espião. Na mesa ao lado, dois escavadores de túneis verticais trocavam reminiscências com
hilaridade abafada diante de seus colegas americanos. Aparentemente, o túnel tivera um predecessor em Viena. Havia sido escavado em 1949 pelo MI6. Começava em uma residência particular, no subúrbio de Schwechat, e estendia-se por vinte metros sob uma estrada, onde dava acesso às linhas que faziam a ligação entre o quartel-general das forças de ocupação soviéticas, no Hotel Imperial, e o comando soviético, em Moscou. “Sabe como é, eles precisavam de uma fachada”, disse um dos escavadores. Um colega colocou a mão no braço do sujeito, que prosseguiu num tom de voz mais baixo, obrigando Leonard a se concentrar. “Precisavam de uma fachada para encobrir aquele entra-e-sai todo enquanto instalavam o grampo. Por isso abriram uma loja de tweeds Harris importados. Pensavam que ninguém em Viena teria muito interesse nesse tipo de coisa. E o que aconteceu? Não havia tweed que chegasse para os vienenses. Formaram filas do lado de fora e em poucos dias a primeira remessa tinha sido completamente vendida. Os coitados passavam o dia inteiro anotando encomendas e atendendo o telefone, em vez de cuidar do serviço. Tiveram de espantar a freguesia e fechar o lugar.” “E aí”, disse um americano depois que as risadas haviam esmorecido, “o nosso homem topou com a brincadeira de vocês.” “Isso mesmo”, confirmou o inglês, “foi o Nelson, Nelson...”, e foi esse nome, a respeito do qual Leonard ainda viria a ter mais informações, que chamou de vez a atenção do grupo para a transgressão em que estavam incorrendo. Puseram-se a falar de esportes. Em outra oportunidade, escavadores de túneis verticais e horizontais trocavam impressões. Quase todas as histórias que Leonard ouvia tinham por finalidade entreter. Os americanos relataram como haviam sido obrigados a abrir caminho por entre o escoamento de água de sua própria fossa séptica. Novamente soaram gargalhadas e uma voz inglesa deu-lhes ainda mais ânimo ao comentar: “Cavando no meio da própria merda, eis uma boa definição para isto aqui”. A seguir, um dos sargentos americanos contou que dezesseis deles, escolhidos a dedo para o trabalho, haviam tido que cavar um túnel-piloto no Novo México antes de iniciar a escavação em Berlim. “A idéia era fazer um teste num solo igual ao daqui. Queriam saber qual era a profundidade ideal e verificar se haveria algum risco de afundamento da superfície. Então começamos a cavar...” “E cavamos, cavamos, cavamos...”, acrescentaram seus amigos. “Depois de quinze metros, eles já tinham tudo de que precisavam para saber qual a melhor profundidade, e não havia afundamento nenhum. Mas vocês pensam que deixaram a gente parar? Querem um exemplo de futilidade? É um túnel no meio do deserto, ligando nada a lugar nenhum, com quarenta e cinco metros de extensão. Quarenta e cinco metros!” Um assunto freqüentemente abordado nas mesas da cantina referia-se ao tempo que os russos ou os alemães-orientais levariam para irromper na câmara de escuta, e o que aconteceria quando o fizessem. Os operadores teriam tempo de cair fora, os Vopos atirariam, daria tempo de trancar as portas de aço? Chegou-se a pensar em instalar dispositivos que ateassem fogo aos equipamentos secretos, mas o risco de incêndio era alto demais. Havia um ponto em que todos estavam de acordo, e Glass confirmara isso. A cia até elaborara um estudo sobre a questão. Se os russos chegassem a invadir o túnel, seriam obrigados a ficar de bico fechado. O constrangimento de ter suas principais linhas de comunicação militar grampeadas seria grande demais para eles. “Há silêncios e silêncios”, Glass havia dito a Leonard. “Mas não há nada que se compare ao grande silêncio russo.” Havia outra história que Leonard ouvira diversas vezes. A repetição da narrativa produzia apenas ligeiras variações em seu formato, e ela funcionava melhor com os recém-chegados,
pessoas que ainda não conheciam George, e por isso fez muito sucesso na cantina em meados de fevereiro. Leonard ouviu-a pela primeira vez enquanto aguardava na fila. Bill Harvey, diretor da base da cia em Berlim, um homem distante e poderoso a quem Leonard jamais tivera a oportunidade sequer de ver de relance, visitava ocasionalmente o túnel para verificar o andamento dos trabalhos. Por ser figura muito conhecida em Berlim, ele vinha somente à noite. Em uma ocasião, Harvey estava no assento de trás de seu automóvel quando ouviu o motorista e o soldado que o acompanhavam queixando-se da vida social que levavam. “Não tenho arrumado nada, velho. E ando na maior secura”, disse um deles. “Eu também”, tornou o amigo. “O único que andou comendo um rabinho nos últimos tempos foi o George.” “Ah, esse George é um sortudo mesmo.” Os homens que trabalhavam no armazém deviam se manter relativamente isolados. Não havia como saber o que seriam capazes de revelar a uma Fräulein qualquer num momento de fraqueza. A extensão da ira de Harvey, ao chegar naquela noite, dependia do narrador. Em algumas versões ele apenas pedia para falar com o oficial de serviço, em outras entrava feito um louco no prédio, num acesso de raiva acentuado pela bebida, e o oficial de serviço tremia diante dele. “Encontre esse tal de George e ponha o canalha para fora daqui!” Procedeu-se a uma averiguação. George, na verdade, era um cachorro, um vira-lata das redondezas que havia sido adotado como mascote do armazém. Em versões encompridadas, Harvey não se deixava abater e dizia calmamente: “Não quero saber quem ele pensa que é. Está deixando meus homens infelizes. Livre-se dele”. Ao fim de quatro semanas, a formidável tarefa de Leonard estava terminada. Os quatro últimos gravadores a serem dotados de ativação de sinal foram colocados em duas malas especialmente confeccionadas, com fechos de mola e cintas de lona para reforçar a segurança. Esses aparelhos seriam utilizados para fins de monitoramento na extremidade avançada do túnel. As malas foram postas no carrinho e levadas para o porão. Leonard trancou sua sala e saiu perambulando pelo corredor, rumo à sala de gravações. O lugar era iluminado por lâmpadas fluorescentes embutidas e era amplo, mas não o bastante para acomodar confortavelmente os cento e cinqüenta aparelhos e todos os homens que trabalhavam em volta deles. Os gravadores estavam dispostos em cinco fileiras, empilhados três a três sobre prateleiras de metal. Algumas pessoas engatinhavam pelos corredores, rastreando fios elétricos e outros circuitos, outras desviavam ou saltavam por cima delas, levando carretéis de fita adesiva, bandejas de entrada e saída, sinais numerados e blocos de papel auto-adesivo. Dois funcionários da manutenção usavam furadeiras elétricas para perfurar a parede, preparando-se para fixar um móvel de escaninhos de seis metros de comprimento. Alguém já colava cartões com números de código sob cada compartimento. Junto à porta via-se uma pilha da altura de um homem com artigos de escritório e carretéis sobressalentes de fita magnética, acondicionados em caixas brancas. Do outro lado da porta, bem no canto da sala, fora aberto um orifício no chão, por onde entravam os cabos que desciam ao porão, passavam pelo poço e cruzavam o túnel até chegar ao local onde os amplificadores estavam prestes a ser instalados. Leonard estava havia quase um ano no armazém quando começou a entender o sistema em operação na sala de gravações. Os escavadores de túneis verticais estavam abrindo cuidadosamente a passagem ascendente que daria acesso ao fosso do outro lado da Schönefelder Chaussee, onde havia três cabos enterrados. Cada um deles continha cento e setenta e dois circuitos com no mínimo dezoito canais. O burburinho incessante que circulava pela rede de
comunicações do comando soviético consistia em conversas telefônicas e mensagens telegráficas criptografadas. Somente dois ou três circuitos eram monitorados na sala de gravações. A movimentação dos Vopos e das equipes de manutenção das linhas telefônicas dos alemãesorientais era objeto de interesse imediato. Se em algum momento o túnel estivesse prestes a ser descoberto, se a besta, como Glass por vezes chamava o outro lado, estivesse na iminência de invadir o túnel, ameaçando a vida do nosso pessoal, os primeiros sinais de alarme viriam por essas linhas. O restante do material era despachado em aviões militares, sob forte vigilância armada — as gravações de conversas telefônicas iam para Londres e as mensagens telegráficas eram encaminhadas para a decodificação em Washington. Grande quantidade de tradutores, muitos deles émigrés russos, labutavam em pequenas salas de Whitehall e nas barracas provisórias que atravancavam o caminho entre o Washington Monument e o Lincoln Memorial. Parado à porta da sala de gravações no dia em que havia terminado o trabalho, a única preocupação de Leonard era arrumar uma nova atividade. Juntou-se a um alemão mais velho, um dos homens de Gehlen, o mesmo que vira dirigindo uma empilhadeira em seu primeiro dia no armazém. Agora os alemães não eram mais ex-nazistas, eram compatriotas de Maria. Assim, ele e Fritz, que possuía formação de eletricista e cujo verdadeiro nome era Rudi, descascaram fios e fizeram conexões em caixas de ligação, envolveram fios elétricos com capas de segurança e prenderam-nos ao chão para que ninguém tropeçasse neles. Após os cumprimentos iniciais, puseram-se a trabalhar imersos num silêncio de camaradagem, compartilhando os descascadores de fios e soltando grunhidos de encorajamento quando pequenas tarefas eram concluídas. Leonard interpretou como um sinal de sua nova maturidade o fato de sentir prazer em trabalhar ao lado de um homem que Glass descrevera como um verdadeiro horror. Com suas pontas largas e achatadas, os dedos grandes de Rudi eram rápidos e precisos. Quando a luminosidade da tarde invadiu a sala, o café foi servido. O inglês sentou-se no chão, com as costas apoiadas na parede, e acendeu um cigarro, mas Rudi abdicou do descanso e continuou o serviço. No fim da tarde, as pessoas começaram a ir embora. Às seis, Leonard e Rudi tinham a sala inteira à sua disposição e aceleraram o ritmo para completar uma última série de conexões. Por fim, Leonard ficou em pé e espreguiçou-se. Agora podia se permitir pensar novamente em Kreuzberg e em Maria. Chegaria lá em menos de uma hora. Estava tirando o paletó do espaldar de uma cadeira quando ouviu seu nome ser pronunciado por alguém à porta. Um homem magro demais para seu terno transpassado avançou em direção a ele com a mão estendida. Rudi, que estava de saída, afastou-se para dar passagem e desejou-lhe Gute Nacht por cima do ombro do estranho. Com uma das mangas do paletó já vestida, Leonard retribuiu o boa-noite enquanto apertava a mão do sujeito. Durante esse pequeno alvoroço, Leonard procedeu à automática e quase inconsciente avaliação de modos, aparência e tom de voz, por meio da qual um inglês decodifica o status social de outro. “John MacNamee. Um dos nossos homens ficou doente e precisarei de um substituto na cabeça do túnel na semana que vem. Já acertei tudo com o Glass. Tenho meia hora agora se quiser que eu lhe mostre o lugar.” Seus dentes da frente eram protuberantes, mas não eram muitos, pequenas cavilhas distantes uma da outra e bastante amareladas. Daí o leve ceceio que se notava na dicção da qual o sotaque cockney não fora totalmente expurgado. O tom de voz era quase íntimo. Estava claro que não aceitaria uma recusa. MacNamee adiantou-se para o conduzir para fora da sala de gravações, mas não havia prepotência em sua autoridade. Leonard adivinhou tratar-se de um
cientista de alto escalão do governo britânico. Ele fora aluno de alguns desses cientistas em Birmingham e um ou dois deles viviam dando as caras no laboratório de pesquisas do British Post Office, em Dollis Hill. Faziam parte de uma geração de homens despretensiosos, brilhantes, os quais, em razão das necessidades impostas pelas modernas tecnologias bélicas, haviam sido alçados a posições de destaque no serviço público ao longo dos anos 40. Leonard nutria respeito pelos que tivera a oportunidade de conhecer. Não o faziam se sentir canhestro e incapaz de se expressar direito como os sujeitos privilegiados que haviam estudado em escolas particulares, os mesmos que não conversavam com ele na cantina e que estavam destinados a galgar as hierarquias de comando graças ao domínio de algumas noções de latim e grego antigo. Chegando ao porão, tiveram de aguardar à beira do poço. Alguém à frente deles estava tendo dificuldade para encontrar o passe que devia exibir ao sentinela. Perto de onde se achavam, a terra amontoada até o teto exalava seu fedor frio. MacNamee batia os pés no concreto enlameado e mantinha juntas as mãos pálidas e ossudas. No caminho, Leonard passara em sua sala para apanhar um sobretudo que Glass havia lhe arrumado, mas MacNamee envergava apenas seu terno cinza. “Vai ficar mais quente lá embaixo depois que esses amplificadores estiverem funcionando. Pode até se tornar um problema”, disse ele. “Está gostando do trabalho?” “É um projeto muito interessante.” “Você aprontou todos aqueles gravadores. Deve ter sido bem enfadonho.” Leonard sabia que não era aconselhável se queixar com um superior, mesmo quando estimulado a fazê-lo. MacNamee estava exibindo seu passe e assinava um termo de responsabilidade por seu acompanhante. “Não foi tão ruim assim, sério.” Atrás do homem mais velho, Leonard desceu a escada que levava ao fundo do poço. À boca do túnel, MacNamee apoiou o pé num dos trilhos para amarrar o cadarço. Sua voz soou amortecida e Leonard teve de se abaixar para escutar. “Qual o seu nível de acesso, Marnham?” Lá do alto, na borda do poço, o sentinela olhava para eles. Seria possível que acreditasse, como os guardas do portão, que estava vigiando um armazém, ou mesmo uma estação de radar? Leonard esperou até que MacNamee endireitasse o corpo e eles entrassem no túnel. A fileira de lâmpadas fluorescentes mal dispersava o negrume. A acústica era abafada. A voz de Leonard soou monocórdica em seus ouvidos. “Tenho nível três.” MacNamee caminhava à frente dele, as mãos metidas nos bolsos da calça por causa do frio. “Bom, creio que talvez tenhamos de passá-lo para o nível quatro. Cuidarei disso amanhã.” Avançando entre os trilhos, sentia-se um leve declive. Havia poças no chão e, nas paredes, onde as chapas de aço haviam sido aparafusadas uma junto da outra de modo a formarem um tubo contínuo, a condensação reluzia. Ouvia-se o zumbido incessante de uma bomba extraindo água do lençol freático. Nas duas laterais do túnel, sacos de areia tinham sido empilhados até a altura do ombro para sustentar cabos e canos. Alguns dos sacos haviam se rompido e vertiam seu conteúdo. A terra e a água faziam pressão de todos os lados, esperando o momento de reaver o espaço. Chegaram a um lugar onde rolos compactos de arame farpado amontoavam-se perto de uma pilha de sacos de areia. MacNamee aguardou até que Leonard o alcançasse. “Estamos entrando no setor russo. Quando eles caírem em cima de nós, coisa que mais dia, menos dia vai acabar acontecendo, bloquearemos a passagem com o arame enquanto batemos em retirada. Eles têm que respeitar a fronteira.” Sorriu de sua pequena ironia, revelando os dentes em estado lastimável.
Projetavam-se para todos os lados, feito velhas lápides. MacNamee notou o olhar de Leonard. Bateu de leve na boca com o indicador e, mirando o constrangimento do rapaz, disse: “São de leite. Os outros não nasceram. Acho que é porque eu não queria crescer”. Prosseguiram na horizontal. Cem metros à frente, um grupo de homens saiu por uma porta de aço e avançou na direção deles. Pareciam mergulhados num diálogo intenso. À medida que se aproximavam, porém, não emitiam som nenhum. Acotovelavam-se pelo caminho, ora andando lado a lado, ora em fila única. Quando estavam a dez metros, Leonard captou o sibilo de seus cochichos. Eles também cessaram quando os dois grupos se espremeram para dar passagem um ao outro, trocando acenos circunspectos. “Temos por norma geral não fazer barulho, especialmente depois de cruzar a fronteira.” MacNamee falava num tom de voz apenas ligeiramente mais alto que o de um sussurro. “Como você sabe, baixas freqüências, vozes masculinas, propagam-se com facilidade.” Leonard cochichou: “Sei”, mas sua resposta foi abafada pelo som das bombas. Correndo por cima de ambas as margens de sacos de areia, notavam-se fios elétricos, o conduíte do ar-condicionado e os cabos que vinham da sala de gravações, revestidos com uma capa de chumbo. Ao longo do caminho havia telefones fixados à parede e extintores de incêndio, caixas de fusíveis, interruptores que acionavam a energia de emergência. A certos intervalos, viam-se luzes de advertência verdes e vermelhas, como sinais de tráfego em miniatura. Era uma cidade de brinquedo, repleta de invenções de menino. Leonard lembrou-se dos acampamentos secretos, dos túneis sob a vegetação rasteira que costumava fazer com os amigos no matagal que havia perto de sua casa. E do gigantesco trem elétrico da Hamleys, o mundo sem perigo de suas ovelhas e vacas pastando imóveis nas colinas verdes que brotavam de forma abrupta na superfície, meros pretextos para os túneis. Naquela época, os túneis eram sinônimos de segredo e segurança. Meninos e trens rastejavam por eles, fora da vista e dos cuidados dos adultos, para depois emergir sãos e salvos. MacNamee tornou a sussurrar em seu ouvido. “Vou lhe dizer o que é que me agrada neste projeto: a atitude. Quando os americanos resolvem fazer uma coisa, fazem o negócio bem-feito e não se preocupam com os custos. Têm me dado tudo de que eu preciso, nunca ouço resmungos. Não é aquela lengalenga do ‘será que não dá para você se virar com meio rolo de barbante?’.” Leonard sentiu-se lisonjeado por merecer a confiança do outro. Tentou expressar uma concordância bem-humorada. “É, basta ver o capricho deles com a comida. Adoro o jeito como eles fritam as batatas...” MacNamee desviou o olhar. A observação pueril pareceu acompanhá-los ao longo do túnel até chegarem à porta de aço. Do lado de lá da porta, aparelhos de ar-condicionado jaziam empilhados em ambas as laterais do túnel, formando um corredor estreito, delimitado pelos trilhos. Cruzaram com um técnico americano que estava trabalhando ali e abriram uma segunda porta. “E então?”, indagou MacNamee ao fechá-la atrás de si. “Que tal?” Haviam ingressado numa seção do túnel intensamente iluminada, onde tudo parecia em ordem e limpo. As paredes tinham sido revestidas com placas de compensado pintadas de branco. Os trilhos desapareciam embaixo de um piso de concreto forrado com linóleo. De cima vinha o ruído surdo do tráfego na Schönefelder Chaussee. Encravados entre prateleiras repletas de aparelhos eletrônicos ficavam os asseados postos de trabalho: superfícies de compensado com fones de ouvido e os gravadores de monitoramento. As malas que Leonard enviara para baixo
naquele dia jaziam cuidadosamente alojadas no chão. Ele não estava sendo convidado a admirar o amplificador. Conhecia o modelo de Dollis Hill. Era potente, compacto e pesava menos de vinte quilos. Figurava entre os itens mais caros do laboratório onde ele trabalhava. Não era o aparelho em si, era a impressionante quantidade deles e o mecanismo de distribuição que ocupava toda uma lateral do túnel, estendendo-se por quase trinta metros, da altura de uma pessoa, como o interior de uma estação telefônica. Era da quantidade que MacNamee se orgulhava, da capacidade operacional, do poder de amplificação e da façanha de engenharia de circuitos que isso implicava. Junto à porta, os cabos revestidos com chumbo desabrochavam numa miríade de fios multicoloridos que se abriam em leque até atingir os pontos de ligação, de onde então emergiam em feixes menores, presos por grampos de borracha. Havia três integrantes do corpo de sinaleiros britânico trabalhando ali. Eles acenaram com a cabeça para MacNamee e ignoraram Leonard. Os dois homens transpuseram a parafernália com um andar altivo, como se estivessem passando em revista uma guarda de honra. MacNamee disse: “Temos quase duzentas e cinqüenta mil libras investidas aqui dentro. Estamos interceptando uma fração minúscula dos sinais russos, de maneira que precisamos dispor do que há de melhor”. Desde o comentário sobre as batatas fritas, Leonard limitava seus juízos apreciativos a suspiros e meneios de cabeça. Tentava formular uma pergunta inteligente e escutava com atenção apenas parcial a descrição que MacNamee lhe fazia das características técnicas do conjunto de circuitos. Sua atenção plena era dispensável. O orgulho que MacNamee sentia pela branca e reluzente sala de amplificação era impessoal. Gostava de rever a proeza refletida nos olhos de quem a via pela primeira vez e, para isso, quaisquer olhos serviam. Leonard ainda estava a braços com sua pergunta quando chegaram à segunda porta de aço. MacNamee parou diante dela. “Esta porta é dupla. Manteremos a sala de escuta pressurizada para impedir o vazamento de nitrogênio.” Leonard tornou a assentir com a cabeça. Os cabos russos continham nitrogênio para protegê-los da umidade e auxiliar a rastrear rompimentos. A pressurização do ar ao redor deles possibilitaria cortá-los sem que isso fosse detectado. MacNamee abriu as portas e Leonard o acompanhou. Foi como se tivessem entrado dentro do tambor de um batuqueiro selvagem. O barulho da estrada invadia o túnel vertical e reverberava na câmara de escuta. MacNamee pisou sobre sacos vazios de isolamento acústico amontoados no chão e pegou uma lanterna que estava em cima de uma mesa. Permaneceram junto à base do túnel de acesso. Lá em cima, no topo do túnel, realçados pelo estreito feixe de luz, viam-se os três cabos, cada um deles com dez ou quinze centímetros de espessura, incrustados na lama. MacNamee abriu a boca para falar, mas o estrépito tornou-se frenético e eles tiveram de aguardar. Quando o barulho diminuiu, ele disse: “Cavalo e carroça. Não tem coisa pior. Assim que estivermos prontos, usaremos um macaco hidráulico para puxar os cabos para baixo. Então precisaremos de um dia e meio para cimentar o teto, de forma a lhe garantir sustentação. Não faremos o corte antes de termos toda a retaguarda em ordem. Primeiro ligamos os circuitos em ponte, depois invadimos e metemos mãos à obra. É provável que cada cabo comporte mais de cento e cinqüenta circuitos. Um técnico do MI6 instalará os grampos propriamente ditos e outros três ficarão de prontidão para o caso de alguma coisa dar errado. Um deles adoeceu, por isso você talvez tenha de estar nesse grupo de apoio”. Enquanto falava, MacNamee mantinha a mão apoiada no ombro de Leonard. Afastaram-se do poço, onde o barulho era mais intenso. “Bem, tenho uma pergunta”, disse Leonard, “mas o senhor talvez não a queira responder.” O cientista do governo britânico deu de ombros. Leonard sentiu que desejava a aprovação
dele. “Obviamente, todas as informações militares importantes são telegrafadas em código. Como faremos para ler isso? Esses códigos modernos são programados para ser virtualmente invioláveis.” MacNamee tirou um cachimbo do bolso do paletó e mordeu a boquilha. Fumar estava evidentemente fora de cogitação. “É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Andou conversando com alguém?” “Não.” “Ouviu alguma coisa sobre um sujeito chamado Nelson, Carl Nelson? Ele trabalhava do Departamento de Comunicações da cia.” “Não.” MacNamee conduziu Leonard de volta pelas portas duplas. Trancou-as antes de prosseguirem. “Isto agora é nível quatro. Creio que o deixaremos entrar. Você está prestes a ingressar num clube seleto.” Tinham parado novamente, dessa vez junto à primeira prateleira de aparelhos de amplificação. Na outra extremidade, os três homens continuavam trabalhando em silêncio, longe demais para escutar qualquer coisa. Enquanto falava, MacNamee passava o dedo pela parte da frente de um amplificador, talvez para dar a impressão de estar fazendo algum comentário sobre o aparelho. “Vou lhe contar a versão simplificada. Descobrimos que quando uma mensagem é eletricamente criptografada e enviada, ela gera um eco eletrônico quase inaudível, uma sombra do texto original, e esse eco circula pela linha, acompanhando os sinais codificados. É tão fraco que desaparece depois de ter percorrido uns trinta quilômetros. Acontece que, se dispusermos do equipamento adequado e se formos capazes de instalar uma escuta dentro do limite desses trinta quilômetros, teremos mensagens legíveis saindo diretamente em nosso teletipo, não importando quão bem cifrado esteja o material. É nisso que se baseia toda esta operação. Não construiríamos algo desse tamanho só para ouvir conversas telefônicas sem importância. Foi o Nelson que descobriu isso, o equipamento é invenção dele. Ele andava por Viena, procurando um lugar adequado para testá-lo nas linhas russas, quando topou com um túnel que havíamos construído para grampear essas mesmas linhas. Assim, com muita generosidade, permitimos que os americanos entrassem em nosso túnel, oferecemos acesso às instalações de que eles necessitavam, deixamos que usassem nossas escutas. Pois sabe o que fizeram? Não nos falaram nada sobre o invento do Nelson. Mandavam o material para Washington e liam o texto sem codificação enquanto quebrávamos a cabeça tentando decifrar o código. E ainda dizem que são nossos aliados. Incrível, não acha?” Parou à espera de que Leonard corroborasse sua opinião. “Agora que estamos juntos neste projeto, nos revelaram o segredo. Mas só o descreveram em linhas gerais, veja bem, não entraram nos detalhes da coisa. É por isso que só posso lhe fazer um relato simplificado.” Dois dos sinaleiros britânicos estavam vindo na direção deles. MacNamee arrastou Leonard de volta para perto da câmara de escuta. “Nossas normas de segurança dizem que você só deve saber aquilo que precisa saber para fazer o seu trabalho, de modo que eu não deveria estar lhe contando nada disso. É provável que esteja se perguntando quais são as minhas intenções. Bom, o caso é que os americanos prometeram dividir conosco tudo o que venham a descobrir. E somos obrigados a confiar na palavra deles. Mas não estamos dispostos a viver das migalhas desses sujeitos. Não é dessa maneira que vemos o nosso relacionamento com eles. Estamos desenvolvendo nossa própria versão da técnica criada pelo Nelson e encontramos alguns lugares com potencial fantástico para colocá-la em prática. Não falamos aos americanos sobre isso.
Precisamos agir com rapidez, pois mais cedo ou mais tarde os russos também ficarão sabendo dessa história, e aí modificarão suas máquinas. Há uma equipe trabalhando nisso em Dollis Hill, mas seria útil ter alguém aqui com olhos e ouvidos bem abertos. Acreditamos que podem estar aqui um ou dois americanos que sabem sobre o equipamento do Nelson. Precisamos de alguém com formação técnica e que não tenha um posto muito alto. Assim que me vê, essa gente sai correndo. São os detalhes que nos interessam, ninharias, fofocas, qualquer coisa que nos possa dar uma mãozinha. Você sabe como os ianques são descuidados. Gostam de tagarelar, largam papéis espalhados por aí.” Haviam parado diante das portas duplas de aço. “Então? O que me diz?” A última palavra soou quase como “giz”. “Na cantina todos gostam de uma conversa fiada”, comentou Leonard. “Até os nossos rapazes.” “Quer dizer que você aceita? Ótimo. Depois conversamos mais. Vamos subir e tomar um chá. Estou congelando de frio.” Retornaram pelo túnel, reingressaram no setor americano, subiram o trecho em aclive. Era difícil não sentir orgulho pelo túnel. Leonard lembrou-se de um episódio de antes da guerra, quando seu pai ampliara a cozinha, construindo um puxadinho de tijolo. Com disposição de menino, Leonard prestara ajuda simbólica, apanhando uma colher de pedreiro, levando uma lista de compras à loja de materiais de construção, coisas assim. Quando estava tudo terminado, e antes que as cadeiras e a mesa do café-da-manhã fossem levadas para lá, ele postou-se no meio do novo espaço, contemplando as paredes rebocadas, as instalações elétricas, a janela feita em casa, e sentiu-se à beira do delírio com sua obra. De volta ao armazém, Leonard inventou uma desculpa para se esquivar do chá na cantina. Agora que tinha a aprovação de MacNamee, até mesmo sua gratidão, sentia-se livre e confiante. A caminho da saída do prédio, parou para dar uma espiada em sua sala. A ausência dos gravadores nas prateleiras era em si mesma um pequeno triunfo. Trancou a porta e levou a chave até a sala do oficial de serviço. Atravessou a área em frente ao edifício, passou pelo sentinela que montava guarda no portão e partiu em direção a Rudow. A estrada submergira nas trevas, mas a essa altura ele já conhecia todos os passos do caminho. O sobretudo não lhe oferecia proteção suficiente contra o frio. Sentia os pêlos das narinas enrijecer. Quando respirava pela boca, o ar aguilhoava-lhe o peito. Intuía as gélidas campinas que se estendiam ao redor. Passou pelos barracos que serviam de lar aos refugiados da República Democrática. Ao ouvir seus passos ressoando na estrada fria, algumas crianças que brincavam em meio à escuridão calaramse com “psius” e esperaram até que ele se afastasse. A cada metro transposto, o armazém ficava mais distante e Maria mais próxima. Não havia contado a ninguém sobre ela no trabalho e não podia contar nada sobre seu trabalho a ela. Não sabia ao certo se era durante o traslado entre seus dois mundos secretos que ele era verdadeiramente ele mesmo, se era então que conseguia manter os dois em equilíbrio, consciente de que não se confundia com eles, ou se nesse meiotempo ele não era nada, apenas um vazio vencendo a distância entre dois pontos. Somente ao chegar aqui ou acolá é que se investia, ou era investido, de uma razão de ser, reassumindo sua personalidade, ou uma das duas que ele agora tinha. O que sabia com certeza é que essas especulações começariam a se esvair à medida que o trem se aproximasse de sua estação em Kreuzberg e que, ao atravessar correndo o pátio interno e galgar de dois em dois, às vezes até de três em três, os degraus dos cinco lances da escadaria, elas teriam desaparecido por completo.
8.
Aconteceu de a iniciação de Leonard coincidir com a semana mais fria do inverno. Para os padrões severos de Berlim, era excepcional, concordavam os mais tarimbados, que a temperatura chegasse a -30ºC. Não havia nuvens no céu e durante o dia até os estragos causados pelo bombardeio, coruscando sob a viva luz laranja, tingiam-se de certa beleza. À noite, a condensação se congelava na superfície interna dos vidros das janelas do apartamento de Maria, compondo motivos caprichosos. De manhã cedo, a camada superior de cobertas da cama, formada em geral pelo sobretudo de Leonard, estava enrijecida. Nesse período ele raramente viu Maria nua, pelo menos não de corpo inteiro, de uma só vez. Vislumbrava-lhe a pele ao se enfiar na toca escura e úmida da cama, sob a pesadíssima e precária crosta de cobertores, casacos, toalhas de banho, uma capa de poltrona, uma colcha de criança, que apenas o próprio peso impedia de se desfazer. Nenhum dos componentes era suficientemente grande para manter o todo unido. Qualquer movimento descuidado fazia com que deslizassem e logo o conjunto estava em ruínas. Eles viam-se então sobre o colchão, um de frente para o outro, tremendo de frio enquanto iniciavam a reconstrução. De modo que Leonard precisou se adestrar em movimentos furtivos para se enfurnar na cama. O frio impunha uma atenção focalizada em detalhes. Gostava de pressionar a maçã do rosto contra o ventre dela, rijo graças àquelas pedaladas todas, ou de mergulhar a ponta da língua em seu umbigo, tão intrincadamente convoluto quanto uma orelha embutida. Ali embaixo, na penumbra — não era possível prender a roupa de cama debaixo do colchão e sempre havia luz entrando pelas laterais —, naquele espaço denso e coagulado, ele aprendeu a amar os odores: suor qual grama cortada, e a umidade da excitação dela, com seus dois elementos, acres porém redondos, penetrantes e agrestes — fruta e queijo, os inconfundíveis sabores do desejo. Essa sinestesia era uma espécie de delírio. Havia minúsculas lâminas de calos, do comprimento dos dedinhos de seus pés. Ouvia o ruflar de cartilagem nas articulações dos joelhos dela. Uma mancha congênita despontava em suas costas, na altura da cintura, de onde saíam dois pêlos compridos. Somente em meados de março, quando o quarto ficou mais quente, ele reparou que os pêlos eram prateados. Os mamilos ficavam imediatamente eretos quando os soprava. No lóbulo das orelhas, notava as marcas deixadas pelo fecho dos brincos. Quando corria os dedos por seus cabelos de bebê, via as raízes separando-se num verticilo de três ramos, na altura do cocuruto, e o crânio dela parecia-lhe branco demais, vulnerável demais. Maria rendia-se a essas Erkundungen, a essas escavações. Permanecia deitada, imersa em devaneios, a maior parte do tempo em silêncio, por vezes acomodando palavras em torno de pensamentos soltos e observando o bafo ascender até o teto. “O major Ashdown é um sujeito engraçado... Isso é bom, coloque os dedos entre os dedos do meu pé, ah, assim... Ele toma uma xícara de leite quente e come um ovo cozido no escritório, todos os dias, às quatro da tarde. Gosta do pão fatiado em pedaços, um, dois, três, quatro, cinco, desse jeito, e sabe como é que ele os chama, esse major do Exército?” A voz de Leonard soou abafada. “Soldados.”
“Isso mesmo. Soldados! Foi assim que vocês ganharam a guerra? Com esses soldados?” Leonard levantou a cabeça em busca de ar e ela colocou os braços em volta de seu pescoço. “Mein Dummerchen, meu pequeno inocente, o que foi que aprendeu hoje aí embaixo?” “Estava escutando a sua barriga. Deve estar na hora do jantar.” Ela o puxou para si e o beijou na face. Maria não reprimia suas próprias exigências e permitia que Leonard desse vazão àquela curiosidade, que ela achava meiga. Às vezes as perguntas dele eram provocações, formas de sedução. “Me diga, por que você gosta que eu entre só até a metade?”, sussurrava ele. Ao que ela suplicava: “Mas eu gosto é que você entre até o fundo, até bem lá no fundo”. “Que nada, você gosta só até a metade, só até aqui. Por quê, hein?” Leonard tendia naturalmente a uma existência bem-ordenada, higiênica. Nos quatro dias que se sucederam ao início do primeiro relacionamento amoroso de sua vida, ele não trocou de cueca nem de meia, não tinha nenhuma camisa limpa e mal se lavava. Haviam passado a primeira noite na cama de Maria, conversando e cochilando. Perto das cinco da manhã, comeram queijo, pão preto e tomaram café, enquanto, do outro lado da parede, o vizinho fazia escarcéu com um pigarro ao se arrumar para ir para o trabalho. Haviam feito amor novamente e Leonard ficou satisfeito com seu poder de recuperação. Daria tudo certo, pensou, ele era igual a todo mundo. Depois disso, mergulhou num sono sem sonhos, do qual foi acordado uma hora mais tarde pelo despertador. Ao afastar as cobertas, sentiu-se envolvido por um frio que lhe contraía o crânio. Ergueu o braço de Maria, que ela havia pousado sobre sua cintura, e saiu tiritando de quatro pela escuridão, nu, até encontrar suas roupas sob o cinzeiro, embaixo dos pratos de omelete e debaixo do pires cuja vela queimara por inteiro. Encontrou um garfo gelado na manga da camisa. Tivera a idéia de guardar os óculos dentro de um dos pés do sapato. A garrafa de vinho tombara e um resto de bebida entornara no cós da cueca. Seu casaco estava estirado sobre a cama. Pegou-o e rearranjou as cobertas. Tateou em busca da cabeça de Maria e beijou-a, mas ela não se mexeu. Já de casaco, parou em frente à pia da cozinha, pôs uma frigideira no chão e espargiu no rosto uma água que de tão fria pinicava. Então se lembrou que afinal de contas havia um banheiro. Acendeu as luzes e entrou. Pela primeira vez na vida usou a escova de dentes de outra pessoa. Nunca se penteara com uma escova de cabelo de mulher. Examinou sua imagem refletida no espelho. Ali estava o novo homem. A barba das últimas vinte e quatro horas ainda era rala demais para lhe dar uma aparência indecente e, do lado do nariz, notava-se a vermelhidão saliente de um princípio de espinha. Não obstante, julgou que seu olhar, apesar de exaurido, estava mais firme. Ao longo do dia, suportou bem o cansaço. Era apenas uma faceta de sua felicidade. Leves e distantes, os elementos de seu dia adejaram diante dele: a viagem de metrô e ônibus, o trajeto percorrido a pé, em que ele passava por uma lagoa congelada e por entre as campinas pontilhadas de branco, as horas consumidas a sós com os gravadores, o solitário bife com fritas na cantina, outras tantas horas entre aqueles circuitos tão familiares, as trevas na caminhada de volta à estação, a viagem de regresso, e então Kreuzberg de novo. Não faria sentido desperdiçar o precioso tempo livre para seguir em frente, atravessar o bairro dela e ir à Platanenallee. Naquele fim de tarde, quando chegou à casa dela, Maria também acabara de retornar do trabalho. O apartamento continuava em desordem. Mais uma vez os dois se enfiaram na cama para se manter aquecidos. A noite se repetiu com variações, a manhã foi uma repetição sem elas. Isso foi
na terça-feira de manhã. A quarta e a quinta-feira transcorreram da mesma maneira. Com certa frieza, Glass perguntou se ele estava deixando crescer a barba. Caso necessitasse de uma prova de sua dedicação à paixão, encontrava-a na espessa camada de sujeira que se acumulara na sola de suas meias cinza e no aroma de manteiga, sumos vaginais e batatas que exalava de seu peito quando ele desabotoava o colarinho. Os interiores excessivamente aquecidos do armazém faziam com que das dobras de suas roupas trescalasse o odor de lençol usado, induzindo-o a devaneios alienadores na sala sem janelas. Foi só no fim da tarde de sexta-feira que Leonard retornou a seu próprio apartamento. Pareceulhe ter estado vários anos ausente. Percorreu os aposentos, acendendo as luzes, intrigado com os sinais deixados por sua personalidade anterior: o rapaz que havia se sentado para escrever aqueles rascunhos nervosos e cheios de maquinação que jaziam esparramados pelo chão, o jovem inocente que se esfregara todo para ficar bem limpo, deixando espuma e pêlos na banheira, toalhas e roupas no chão do quarto. Eis o inábil fazedor de café — ele observara Maria e agora sabia tudo sobre o assunto —, ali a infantil barra de chocolate e, a seu lado, a carta que a mãe lhe escrevera. Passou os olhos por ela e achou nauseantes, verdadeiramente irritantes, as pequenas inquietações expressas no tocante a sua vida em Berlim. Enquanto a banheira enchia, pôs-se a vagar pelo apartamento só de cueca, mais uma vez se deleitando com o espaço amplo e aquecido. Assoviava e cantarolava trechos de canções. A princípio não encontrou o ritmo indômito capaz de extravasar seus sentimentos. As sussurrantes canções de amor que conhecia eram todas corteses e contidas demais. De fato, o que lhe convinha agora era a estridente tolice americana que ele supunha desdenhar. Lembrava-se de alguns trechos, mas eram fragmentos elusivos: “E faz sei lá o quê com os pots and pans. Shake, rattle and roll! Shake, rattle and roll!”. Na lisonjeira acústica do banheiro, bradou vezes sem conta essa fórmula encantatória. Urrada por uma voz inglesa, parecia uma idiotice, mas era justamente o tipo de coisa de que estava precisando. Vibrante e sexy, e mais ou menos sem sentido. Jamais em sua vida sentira-se tão descomplicadamente feliz. Desfrutava do momento de solidão, mas não estava sozinho. Alguém o aguardava. Tinha tempo para se arrumar e colocar o apartamento em ordem, depois estaria a caminho. “Shake, rattle and roll!” Duas horas mais tarde, saiu pela porta da frente. Dessa vez levou consigo uma sacola com algumas mudas de roupa, e só retornou uma semana depois. Nesses primeiros dias, Maria não quis ir para o apartamento de Leonard, malgrado as descrições exageradas que ele lhe fez da suntuosidade do lugar. Temia que, se começasse a passar as noites fora, isso gerasse comentários entre os vizinhos de que ela havia encontrado um homem e um lugar melhor para viver. A notícia chegaria aos ouvidos das autoridades e então ela seria despejada. Em Berlim, a procura por moradia, mesmo em se tratando de um apartamento de um quarto e sem água quente, era enorme. Para Leonard, parecia razoável que ela quisesse permanecer em seu próprio território. Eles se enrolavam nas cobertas e faziam arremetidas à cozinha a fim de preparar pratos apressadamente fritos. Para se lavar, precisavam encher uma panela, esperar na cama até que a água fervesse e então correr para o banheiro e despejar a água escaldante na pia gelada. A tampa do ralo da pia vazava e a pressão da torneira de água fria era imprevisível. Para Leonard e Maria, o trabalho era o lugar onde eles se aqueciam e comiam decentemente. Em casa, não havia onde ficar senão na cama. Maria ensinou Leonard a ser um amante incansável e atencioso, orientou-o a esperar que ela tivesse todos os seus orgasmos antes de ele ter o dele. Leonard não viu nada de mais nisso,
pareceu-lhe uma atitude de puro cavalheirismo, tanto quanto o homem dar passagem à mulher ao entrar por uma porta. Aprendeu a fazer amor na Hundestellung, na posição de cachorrinho, que também era a maneira mais rápida de desmanchar a roupa de cama, e também por trás, com ela deitada de lado, de costas para ele, prestes a adormecer, e depois com os dois de lado, um de frente para o outro, num abraço apertado, quase sem desarrumar as cobertas. Verificou que o desejo dela não obedecia a regras estabelecidas. Às vezes um simples olhar bastava para incendiá-la. Em outras ocasiões, embora se aplicasse pacientemente, como um menino entretido em montar seu aeromodelo, ela o interrompia sem mais para sugerir um sanduíche de queijo e uma nova rodada de chá. Reparou que Maria apreciava que ele murmurasse palavras carinhosas em seu ouvido, mas não além de certo ponto, não depois que os olhos dela tivessem dado início às circunvoluções internas. A essa altura, não queria ser distraída. Aprendeu que na Drogerie devia pedir por Präservative. Depois ficou sabendo por Glass que tinha direito a um estoque grátis, fornecido pelo Exército americano. Voltou para casa um dia trazendo consigo no ônibus uma caixa de papelão azul-claro com seiscentas unidades. Sentou-se com o pacote apoiado nos joelhos, sentindo os olhares dos outros passageiros, e de alguma forma soube que a cor o delatara. Certa vez, quando Maria se ofereceu delicadamente para colocar o preservativo nele, Leonard reagiu com um “não” agressivo demais. Posteriormente, perguntou-se o que o teria perturbado. Foi a primeira manifestação de um novo e inquietante traço. Tinha dificuldade em descrevê-lo. Era um elemento de consciência que se insinuava, partes suas, partes de que ele não gostava nem um pouco. A partir do momento em que a novidade daquilo tudo se esvaiu e assim que se sentiu seguro de que conseguiria fazer como todo mundo, e adquiriu confiança de que não gozaria antes da hora, quando tudo isso ficou para trás e ele se convenceu de que Maria gostava genuinamente dele e o desejava e o continuaria desejando, desse momento em diante passou a deparar com pensamentos que lhe vinham à cabeça quando estava fazendo amor, os quais não tinha forças para afastar. Não demorou muito para que se tornassem fantasias inseparáveis do seu desejo. Elas chegavam cada vez mais perto e proliferavam cada vez mais, assumindo novas formas. Vultos apinhavam-se nas margens do pensamento, agora avançavam a passos largos rumo ao centro, em sua direção. Eram todos versões dele próprio e ele sabia que não conseguiria lhes resistir. Começou na terceira ou quarta vez, com uma simples constatação. Olhou para Maria, que se achava debaixo dele de olhos fechados, e lembrou-se de que ela era uma alemã. A palavra, afinal, não estava inteiramente livre de suas associações. Seu primeiro dia em Berlim volveu-lhe à memória. Alemães. Inimigos. Inimigos mortais. Inimigos derrotados. Esta última veio acompanhada de um arrepio atordoante. Distraiu-se momentaneamente, calculando a impedância total de determinado circuito. Então: a vencida era ela, Maria era sua de direito, um despojo de guerra conquistado graças a violências, heroísmos e sacrifícios inimagináveis. Que júbilo! Estar do lado certo, vencer, ser recompensado. Correu os olhos ao longo dos próprios braços estendidos diante de si, acometendo contra o colchão, no lugar onde os pêlos cor de gengibre eram mais espessos, pouco abaixo do cotovelo. Ele era poderoso, magnífico. Seus movimentos tornaram-se mais acelerados, mais vigorosos, ele praticamente a golpeava. Sentia-se vitorioso, bom, forte, livre. Mais tarde, constrangeu-se ao rememorar essas formulações e tratou de repelilas. Eram estranhas à sua natureza atenciosa e gentil, ofendiam sua noção do razoável. Bastava olhar para ela para perceber que não havia nenhum traço de derrota em Maria. A invasão da Europa servira para libertá-la, não para subjugá-la. E não era ela que, ao menos nas brincadeiras
com que se entretinham, servia-lhe de guia? Não obstante, na vez seguinte os pensamentos retornaram. Proporcionavam-lhe uma excitação irresistível e ele sentia-se indefeso diante de suas elaborações. Dessa vez ela era sua por direito de conquista e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Não queria fazer amor com ele, mas não tinha escolha. Ele invocou os diagramas de circuito. Não estavam mais disponíveis. Ela se contorcia toda, tentando escapulir, debatia-se sob o peso de seu corpo. Ele pensou tê-la ouvido gritar “Não!”. Ela balançava a cabeça de um lado para o outro, os olhos fechados para se defender da inescapável realidade. Ele a mantinha imobilizada no colchão, ela era sua, não havia nada que pudesse fazer, jamais escaparia. E assim foi, dessa maneira chegou ao fim, tinha ido, estava acabado. Sua cabeça se esvaziara e ele jazia de costas na cama. Desanuviado, pensou em comida, em lingüiças. Não uma Bratwurst, nem uma Bockwurst, tampouco uma Knackwurst; pensou numa lingüiça inglesa, gordurosa, de sabor suave, bem tostada de todos os lados, acompanhada de purê de batata e ervilhas polpudas. Nos dias que se seguiram, seu constrangimento esvaiu-se. Ele aceitou o fato óbvio de que Maria não percebia o que se passava em sua cabeça, mesmo se estivesse a apenas alguns centímetros de distância. Tais pensamentos eram exclusivamente seus, não tinham nada que ver com ela. Por fim, esboçou-se uma fantasia mais dramática. Todos os elementos anteriores eram recapitulados. Sim, ela havia sido derrotada, conquistada, era sua de direito, não tinha como escapar, e ele, agora, era um soldado, extenuado, ensangüentado, ferido em combate, mas com aparência antes heróica que combalida. Aprisionara essa mulher e se pusera a violentá-la. Entre aterrorizada e aturdida, ela não ousava desobedecer. Ficou melhor depois que ele puxou o sobretudo mais para perto da cabeceira da cama; assim, quando virava a cabeça para a esquerda ou para a direita, via-lhe a cor verde-oliva. O fato de que ela se mostrasse relutante, e ele inviolável, servia de premissa a outros desdobramentos fabulosos. Quando retornava à vida prosaica naquela cidade repleta de soldados, a fantasia soldadesca parecia-lhe ridícula, mas não lhe custava muito esforço tirá-la da cabeça. A dificuldade era maior, contudo, quando ele se sentia tentado a compartilhar essas veleidades com ela. No princípio, apenas a abraçava com mais força, mordia-a com bastante comedimento, segurava-lhe os braços estendidos junto ao corpo e fantasiava que estava obstando-lhe a fuga. Uma vez deu-lhe uma palmada na bunda. Nada disso parecia fazer muita diferença para Maria. Ela não percebia nada, ou fingia não perceber. Só o prazer dele é que ganhava em intensidade. Mas a idéia o atormentava cada vez mais: queria que ela estivesse a par do que se passava em sua cabeça, por mais estúpido que fosse. Não conseguia acreditar que aquilo não fosse excitá-la. Deu-lhe outra palmada, mordeu-a e abraçou-a com mais força. Ela tinha que lhe dar o que era seu. Seu teatrinho particular havia se tornado insuficiente. Queria algo que envolvesse ambos. Algo real, não uma fantasia. Encontrar uma maneira de lhe dizer era inevitavelmente o próximo passo. Desejava ter seu poder reconhecido e queria que Maria sofresse sob seu jugo, só um pouquinho, da forma mais prazerosa. Não tinha a menor dificuldade em permanecer calado depois que terminavam. Sentia-se envergonhado após o sexo. Que poder era esse que ele queria ver reconhecido? Não passava de uma invenção repulsiva de sua cabeça. Mais tarde, porém, perguntava-se se ela também não sentiria a volúpia disso. Obviamente, não havia o que discutir. Não seria capaz de colocar nada daquilo em palavras, nem ousaria fazê-lo. Não teria o menor
cabimento pedir a permissão dela. Precisava pegá-la de surpresa, mostrar a ela, deixar que o prazer se sobrepusesse a suas objeções racionais. Pensava em tudo isso e sabia que não havia como impedir o desenrolar dos acontecimentos. Ao final da primeira quinzena de março, uma nuvem branca de contornos indefinidos cobriu o céu e a temperatura subiu abruptamente. Os poucos centímetros de neve suja se derreteram em três dias. No caminho entre o vilarejo de Rudow e o armazém, brotos verdes despontavam em meio ao lodo de neve fundida, e à beira da estrada as árvores cevavam botões ramosos. Leonard e Maria emergiram de sua hibernação. Abandonaram a cama e o quarto, e levaram o aquecedor elétrico para a sala. Comiam juntos num Schnellimbiss e iam a uma Kneipe dos arredores para tomar um copo de cerveja. Assistiram a um filme do Tarzan na Kurfürstendamm. Uma noite de sábado foram ao Resi, onde dançaram ao som de uma big band alemã, que alternava o romantismo de canções de amor americanas com a rígida monotonia rítmica de animadas músicas bávaras. Pediram Sekt para brindar o primeiro encontro. Maria queria que eles se sentassem longe um do outro para trocar mensagens pelos tubos pneumáticos, mas não havia mesas disponíveis. Após terem pedido uma segunda garrafa de Sekt, ficaram apenas com o dinheiro contado para tomar um ônibus que os deixaria na metade do caminho de casa. Quando caminhavam rumo à Adalbertstrasse, Maria bocejou em voz alta e enganchou o braço no de Leonard para se apoiar. Nos três últimos dias ela havia feito dez horas extras para cobrir uma das colegas de escritório, que estava de cama, com gripe. Além disso, na noite anterior, ela e Leonard tinham ficado acordados até o amanhecer e ainda haviam sido obrigados a refazer a cama antes de dormir. “Ich bin müde, müde, müde”, disse ela em voz baixa ao galgar os primeiros degraus da escadaria do prédio. Ao entrar no apartamento, foi direto para o banheiro, a fim de se preparar para dormir. Enquanto esperava na sala, Leonard bebeu o resto de uma garrafa de vinho branco. Quando Maria apareceu, ele deu alguns passos em sua direção e parou, obstruindo-lhe a passagem até o quarto. Sabia que se agisse com confiança e fosse fiel a seus sentimentos, não teria como falhar. Ela fez menção de pegar a mão dele. “Vamos dormir. Teremos a manhã toda.” Ele se esquivou e apoiou a mão na cintura. Maria exalava um aroma pueril de pasta de dentes e sabonete. Tinha na mão o grampo de cabelo que estivera usando. Leonard manteve o tom de voz inalterado e, segundo pensou, inexpressivo. “Tire as roupas.” “Claro, lá no quarto.” Deu um passo para o lado para desviar dele. Ele a segurou pelo cotovelo e a empurrou de volta. “Faça-o aqui mesmo.” Ela se irritou. Ele havia previsto isso, sabia que teriam de passar por esse pedaço. “Não estou me agüentando em pé. Veja só o meu estado.” Estas últimas palavras foram ditas de forma conciliatória e Leonard teve de fazer um certo esforço de vontade para estender a mão e segurar o queixo dela entre o indicador e o polegar. Elevou o tom de voz. “Faça o que eu estou mandando. Tire as roupas aqui. Agora.” Ela se livrou da mão dele com um empurrão. Ficara realmente surpresa, mas agora estava achando até um pouco de graça. “Você está bêbado. Bebeu demais no Resi e agora pensa que é o Tarzan.” Sua risada o irritou. Empurrou-a contra a parede, com mais força do que pretendia. O baque expeliu o ar de seus pulmões. Os olhos dela estavam arregalados. Recuperou a respiração e disse: “Leonard...”.
Ele sabia que o medo poderia vir à tona e que precisavam deixá-lo para trás o mais rápido possível. “Faça o que estou mandando e não lhe acontecerá nada de mal.” Seu tom de voz era tranqüilizador. “Tire tudo ou eu mesmo o farei.” Ela se comprimiu contra a parede. Balançou a cabeça. Seus olhos tinham uma expressão abatida e sombria. Ele pensou que isso talvez fosse a primeira indicação de sucesso. Quando começasse a obedecer, ela compreenderia que a única intenção dessa pantomima era proporcionar prazer, tanto para ele como para ela. Então o medo desapareceria por completo. “Você vai obedecer.” Conseguiu suprimir o tom de interrogação. Ela deixou cair a fivela e pressionou os dedos contra a parede atrás de si. Mantinha a cabeça imóvel e ligeiramente curvada. Respirou profundamente e disse: “Agora eu vou para o quarto”. Seu sotaque pareceu mais pronunciado do que de costume. Afastou-se alguns centímetros da parede, e então ele a empurrou de volta. “Não vai, não”, disse ele. Ela levantou a cabeça para olhar para ele. Seu queixo estava caído, os lábios entreabertos. Olhava-o como se pela primeira vez. O que se estampava em seu rosto talvez fosse assombro, ou mesmo admiração estupefata. A qualquer momento, tudo seria diferente, haveria submissão feliz, e transformação. Ele fisgou o fecho da saia e puxou com força. Não havia mais volta. Ela gritou e pronunciou rapidamente seu nome duas vezes. Segurava a saia com uma mão e mantinha a outra soerguida e espalmada, em atitude defensiva. Havia dois botões pretos no chão. Ele agarrou um punhado de tecido e, com um puxão, abaixou a saia. Ela aproveitou o momento para se precipitar pela sala. A saia rasgou ao longo de uma costura, fazendo-a tropeçar. Ela ainda se arrastou um pouco pelo chão, tentando se levantar, mas caiu de novo. Ele virou-a de costas e pressionou-lhe os ombros contra as tábuas do assoalho. Deviam estar gargalhando, pensou. Aquilo era uma brincadeira, uma brincadeira hilariante. Ela não precisava fazer aquele drama todo. Estava ajoelhado junto dela, segurando-a com as duas mãos. Então a soltou. Deitou-se desajeitadamente a seu lado, apoiando-se com o cotovelo no chão. Usou a mão livre para abaixar sua roupa íntima e desabotoar a braguilha. Ela jazia inerte, olhando para o teto. Mal piscava os olhos. Este foi o momento decisivo. Tinham dado a partida. Ele quis sorrir para ela, mas pensou que isso talvez estragasse a sensação que ela teria de seu domínio. Manteve uma expressão severa enquanto se ajeitava. Afinal, se aquilo era uma brincadeira, era uma brincadeira séria. Estava quase na posição. Encontrou-a apertada. Levou um choque quando a ouviu falar com uma voz absolutamente calma. Ela não desviara os olhos do teto e seu tom de voz era frio. Maria disse: “Quero que saia daqui. Quero que vá para a sua casa”. “Vou ficar”, replicou Leonard, “e é assim que vai ser.” A resposta não soou tão firme quanto ele pretendia. Ela insistiu: “Por favor...”. Seus olhos marejaram. Continuava olhando fixamente para o teto. Enfim piscou, liberando uma lágrima, que escorreu em linha reta pela têmpora e desapareceu entre os cabelos acima da orelha. O cotovelo de Leonard estava retesado. Ela sugou o lábio inferior e piscou de novo. Não verteu nenhuma outra lágrima e aventurou-se a falar mais uma vez. “Vá embora.” Ele acariciou-lhe o rosto ao longo da linha do malar, descendo até onde o cabelo estava úmido. Ela conteve a respiração, esperando que ele parasse. Leonard ficou de joelhos, esfregou o braço e abotoou a braguilha. O silêncio sibilava ao redor
deles. Era injusta essa censura tácita. Ele apelou a um tribunal imaginário. Se aquilo tivesse sido outra coisa que não uma brincadeira, se ele houvesse tido a intenção de machucá-la, não teria parado no mesmo instante em que se deu conta de toda a sua contrariedade. Ela estava tomando a situação ao pé da letra, usando-a contra ele, e isso não era nem um pouco justo. Não sabia por onde começar a dizer essas coisas. Maria permanecia imóvel no chão. Estava zangado com ela. E ansiava desesperadamente por seu perdão. Era impossível falar. Ela deixou a mão flácida quando ele a pegou e apertou. Meia hora antes eles caminhavam de braços dados pela Oranienstrasse. Como faria para reaver isso? A imagem de uma locomotiva azul a corda veio-lhe à mente, um presente que ganhara em seu aniversário de oito ou nove anos. A locomotiva puxava uma fileira de vagões de carvão por um trilho em forma de oito até que ele, movido certa tarde por um espírito de reverente experimentação, exagerou ao dar corda no mecanismo e quebrou-o. Leonard por fim se levantou e deu alguns passos para trás. Maria sentou-se e arrumou a saia sobre os joelhos. Ela também tinha uma recordação, se bem que mais recente, de apenas dez anos antes, e mais desagradável que a de um trenzinho quebrado. Remetia a um abrigo antiaéreo, num subúrbio da região leste de Berlim, perto da ponte Oberbaum. Fora em fins de abril, na semana anterior à queda da cidade. Ela tinha quase vinte anos. Uma unidade avançada do Exército Vermelho havia instalado armas pesadas nas proximidades e bombardeava o centro da cidade. Trinta pessoas refugiavam-se no abrigo, entre mulheres, crianças e velhos, encolhendo-se em meio aos estrondos. Maria estava com seu tio Walter. Houve uma pausa nas descargas e cinco soldados que perambulavam por ali entraram no abrigo, os primeiros russos com que eles deparavam. Um deles apontou o fuzil para o grupo, enquanto outro, recorrendo à mímica, perguntava aos alemães por relógios e jóias. A coleta foi rápida e silenciosa. Tio Walter empurrou Maria para trás, em direção ao posto de primeiros socorros, onde a escuridão era maior. Ela se escondeu num canto, espremendo-se entre a parede e um armário de suprimentos vazio. Em cima de um colchão estendido no chão, via-se uma mulher de uns cinqüenta anos que fora atingida por tiros em ambas as pernas. Estava de olhos fechados e gemia. Era um som alto, contínuo, de uma nota só. O gemido atraiu a atenção de um dos soldados. Ele se ajoelhou junto à mulher e sacou uma faquinha de cabo curto. Ela continuava de olhos fechados. O soldado levantou-lhe a saia e cortou-lhe a roupa de baixo. Assistindo à cena por cima do ombro de seu tio, Maria pensou que o russo ia executar algum tipo rudimentar de cirurgia de campanha, removendo as balas com uma faca não esterilizada. Então ele deitou em cima da mulher ferida e a penetrou com movimentos trêmulos, convulsos. A voz da mulher assumiu um tom mais baixo. Diante dela, no interior do abrigo, as pessoas desviavam o olhar. Não faziam o menor ruído. Nisso sobreveio um rumor, e outro russo, um sujeito enorme vestido à paisana, abriu caminho em direção ao posto de primeiros socorros. Era um comissário político, como Maria soube mais tarde. Tinha o rosto vermelho de raiva, os lábios esgarçados ao máximo, revelando-lhe os dentes. Com um berro, agarrou o soldado pelas costas da jaqueta e puxou-o para trás. O pênis fulgurou vívido em meio à escuridão, menor do que Maria havia imaginado. O comissário levou o soldado embora, arrastando-o pela orelha, gritando em russo com ele. Então o silêncio tornou a cair sobre o abrigo. Alguém ofereceu um pouco de água à mulher. Três horas depois, quando tiveram certeza de que a unidade de artilharia havia avançado, eles emergiram sob a chuva que caía lá fora. O soldado jazia de bruços na beira da estrada. Tinha sido morto com um tiro na nuca. Maria levantou-se. Segurava a saia com uma mão para que ela não caísse. Tirou o sobretudo
de Leonard de cima da mesa e largou-o aos pés dele. Ele sabia que teria de ir embora, pois não conseguia pensar em nada para dizer. Estava mentalmente bloqueado. Ao passar por ela, pousou a mão em seu antebraço. Ela curvou a cabeça, olhou para a mão e virou o rosto para o outro lado. Sem nenhum tostão no bolso, ele teve de ir a pé até a Platanenallee. No dia seguinte, após o expediente, levou-lhe flores, mas ela havia partido. Um dia depois, soube por uma vizinha que Maria estava com os pais no setor russo.
9.
Não houve tempo para ruminações. Dois dias após o sumiço de Maria, um macaco hidráulico foi levado até a cabeça do túnel para puxar os cabos para baixo. Aparafusaram-no sob a escavação vertical. As portas duplas foram hermeticamente fechadas e a sala pressurizada. John MacNamee estava lá, além de Leonard e de outros cinco técnicos. Havia também um americano de terno, que em momento algum abriu a boca. Tiveram de engolir em seco para adaptar os ouvidos à elevação da pressão. MacNamee distribuiu algumas balas de chupar. O americano tomava pequenos goles d’água em uma xícara de chá. O barulho do tráfego ressoava na câmara. Vez por outra ouviam o rugido de um caminhão pesado e o teto vibrava. Quando uma luz no telefone de campanha piscou, MacNamee tirou o fone do gancho e ficou à escuta. Eles já haviam recebido sinal verde da sala de gravações, do pessoal que estava operando os amplificadores e dos engenheiros responsáveis pelos geradores de energia e pelo fornecimento de ar. A última chamada veio dos sentinelas postados em cima do telhado do armazém, que vigiavam a Schönefelder Chaussee com binóculos. Haviam estado lá durante todo o período de escavação. O trabalho costumava ser interrompido sempre que os Vopos eram vistos em cima do túnel. MacNamee desligou o telefone e fez um gesto com a cabeça para os dois homens que estavam ao lado do macaco. Um deles pendurou uma correia de couro larga no ombro e trepou por uma escada até os cabos. A correia foi passada por cima dos cabos e atada a uma corrente que havia sido emborrachada para não tilintar. O homem que ficara ao pé da escada ligou a corrente ao macaco e olhou para MacNamee. Assim que o primeiro sujeito desceu e a escada foi recolhida, o cientista inglês tornou a tirar o fone do gancho. Depois o recolocou no lugar, fez que sim com a cabeça e o homem começou a operar o macaco. Era grande a tentação de se aproximar do poço e ficar ali embaixo, vendo puxarem os cabos. Haviam calculado o tanto de folga com que poderiam contar e até onde seria seguro esticar. Não era um cálculo cem por cento seguro. Mas não seria profissional demonstrar muita curiosidade. O sujeito que operava o macaco precisava de espaço. Os outros aguardavam em silêncio, chupando suas balas. A pressão continuava a aumentar, o ar estava quente e recendia a suor. O americano mantinha-se à parte. Consultou o relógio e anotou algo numa caderneta. MacNamee continuava com a mão no telefone. O sujeito interrompeu o trabalho, endireitou o corpo e lançou um olhar para ele. MacNamee foi até a abertura do poço e olhou para cima. Ficou na ponta dos pés e esticou o braço. Quando o recolheu, tinha a mão coberta de lama. “Quinze centímetros”, disse, “mais que isso não dá”, e voltou para perto do telefone. O homem que havia trepado na escada trouxe um balde de água e um pedaço de pano. Seu colega desaparafusou o macaco do chão. No lugar foi colocada uma plataforma baixa de madeira. O sujeito do balde aproximou-se de MacNamee para que este enxaguasse a mão na água. Depois voltou para o poço, subiu com o balde na plataforma e lavou os cabos que, pelas contas de Leonard, deviam estar a apenas um metro e oitenta do chão. Com uma toalha de banho que lhe foi entregue, o sujeito secou os cabos. Então um dos outros técnicos que haviam permanecido ao lado de Leonard postou-se junto à plataforma. Tinha na mão uma faca de
eletricista e um par de descascadores de fios. MacNamee falava novamente ao telefone. “A pressão está boa”, sussurrou para os que se encontravam na sala, e a seguir murmurou algumas instruções no fone. Antes que o primeiro corte fosse feito, eles se permitiram desfrutar o momento. Nos degraus da plataforma só cabiam três homens. Colocaram as mãos nos cabos. Cada um deles tinha a espessura de um braço, eram pretos, de um tom fosco, e estavam frios e ainda pegajosos por causa da umidade. Leonard era capaz de sentir, passando sob as pontas de seus dedos, as centenas de conversas telefônicas e mensagens cifradas que iam e vinham de Moscou. O americano aproximou-se para olhar, porém MacNamee não arredou pé de seu posto. Então o técnico com a faca ficou sozinho na plataforma e deu início ao trabalho. Para os outros, que o observavam, ele era visível apenas da cintura para baixo. Trajava uma calça cinza de flanela e seus sapatos marrons estavam engraxados. Pouco depois, passou um retângulo de borracha preta para os que permaneciam embaixo. O primeiro cabo havia sido aberto. Quando os outros dois foram cortados, chegou a hora de instalar o grampo. MacNamee pôs-se novamente ao telefone e nada aconteceu até ele dar o sinal. Sabia-se que os alemães-orientais verificavam regularmente a integridade de seus circuitos prioritários: enviavam pela linha um pulso que retornaria se encontrasse alguma interrupção. A fina camada de concreto no alto da câmara de escuta podia ser facilmente arrebentada. Leonard e os demais haviam sido instruídos sobre os procedimentos de evacuação. Cabia ao último homem fechar e trancar todas as portas atrás de si. No ponto em que o túnel cruzava a fronteira, os sacos de areia e o arame farpado deviam ser colocados no lugar, o mesmo acontecendo com a placa de madeira pintada à mão que advertia severamente os intrusos, em alemão e russo, de que estavam ingressando no setor americano. Apoiados em hastes fixadas ao longo da parede de compensado, viam-se centenas de circuitos em caprichados feixes multicoloridos, prontos para serem grampeados à linha subterrânea. Leonard e outro homem permaneciam junto à plataforma, entregando ao técnico os fios que este lhes pedia. O trabalho não foi executado nos moldes delineados por MacNamee. Na plataforma ficava sempre o mesmo sujeito, trabalhando a um ritmo com o qual Leonard se sabia incapaz de rivalizar. De hora em hora, faziam um intervalo. Café e sanduíches de queijo e presunto eram trazidos da cantina. Um dos técnicos permanecia sentado a uma mesa com um gravador e fones de ouvido. Na terceira ou quarta hora de trabalho, ele levantou a mão e virou-se para MacNamee, que se aproximou e colocou um dos fones no ouvido. Depois o ofereceu ao americano, que estava a seu lado. Haviam invadido o circuito utilizado pelos engenheiros telefônicos da Alemanha Oriental. A partir de agora saberiam de antemão, caso algum alarme fosse disparado. Uma hora mais tarde tiveram de evacuar a câmara. A umidade do ar aumentara a ponto de haver condensação nas paredes, e MacNamee receou que isso causasse alguma interferência nos contatos. Deixaram um homem monitorando o circuito dos engenheiros, enquanto os demais aguardavam a queda do nível de umidade do lado de lá das portas duplas. Ficaram no pequeno espaço de túnel que os separava dos amplificadores, as mãos enfiadas nos bolsos, tentando não bater os pés no chão. Ali fora o frio era muito mais intenso. Todos gostariam de subir até o porão para fumar um cigarro. Porém MacNamee, mordiscando o cachimbo apagado, não sugeriu que o fizessem, e ninguém se aventurou a pedir. Ao longo das seis horas seguintes, saíram cinco vezes da câmara. O americano foi embora sem falar nada. Por fim, MacNamee mandou um dos técnicos embora. Meia hora depois, dispensou Leonard. Passando despercebido pela excitação silenciosa que vibrava em torno das prateleiras de
amplificadores, Leonard caminhou vagarosamente ao longo dos trilhos, rumo ao armazém. Tinha o comprido trecho só para si e sabia que estava retardando a hora de sair do túnel, o momento de deixar o show para trás e voltar para a sua vergonha. Duas noites antes, permanecera com as flores do lado de fora do apartamento de Maria sem conseguir arredar pé dali. Convencera-se a si mesmo de que ela saíra para ir às compras. Todas as vezes que ouvia passos na escada, debruçava-se sobre o corrimão para escrutar os andares de baixo, preparando-se para encontrála. Depois de uma hora, enfiou as flores — dispendiosos cravos vermelhos cultivados em estufa — uma a uma por baixo da porta, e desceu correndo as escadas. Retornou na noite seguinte, dessa vez trazendo chocolates recheados com marzipã numa caixa em cuja tampa viam-se alguns cachorrinhos num cesto de vime. Os chocolates e as flores custaram-lhe quase todo o salário de uma semana. Estava um andar abaixo do de Maria quando topou com a vizinha, uma mulher descarnada e pouco amistosa, de cujo apartamento saía um forte cheiro de creolina. Ela abanou a cabeça e a mão para Leonard. Sabia que ele era estrangeiro. “Fort! Nicht da! Bei ihren Eltern!” Leonard agradeceu. Ao ver que ele continuava a subir as escadas, ela repetiu a informação com estardalhaço e ficou aguardando que ele descesse. A caixa era grande demais, por isso ele teve de enfiar os chocolates um a um pela soleira da porta. Ao descer e passar pela vizinha, ofereceulhe a caixa. Ela cruzou os braços e mordeu os lábios. A recusa custou-lhe certo esforço. Seu ataque a Maria, quanto mais distante no tempo, mais lhe parecia inacreditável, e menos perdoável. Ele havia se comportado segundo certa lógica, seguira passo a passo um raciocínio maluco de que não conseguia se recordar. Na hora pareceu fazer sentido, mas agora só se lembrava da certeza com que havia se conduzido, da convicção de que ela acabaria aprovando aquilo. Não era capaz de evocar os passos que dera ao longo do caminho. Era como se estivesse rememorando as ações de outro homem, ou de alguém em quem, num sonho, ele havia se transformado. Agora estava de volta ao mundo da vida real — acabara de cruzar a fronteira subterrânea e começava a galgar o trecho em aclive — e suas ações, uma vez submetidas aos critérios desse mundo, pareciam não apenas agressivas como profundamente estúpidas. Ele afugentara Maria. Ela era a melhor coisa que lhe havia acontecido desde... Passaram por sua cabeça várias delícias da infância, aniversários, férias, celebrações natalinas, o ingresso na universidade, a transferência para Dollis Hill. Nada nem de longe tão bom havia lhe acontecido antes. Imagens dela, que lhe vinham à mente sem ser convocadas — memórias de sua doçura, do afeto que ela lhe havia dedicado —, fizeram-no lançar a cabeça para um lado e tossir para encobrir o som de sua agonia. Jamais a teria de volta. Urgia tê-la de volta. Trepou pela escada que levava ao topo do poço e acenou com a cabeça para o sentinela. Subiu ao pavimento seguinte, rumo à sala de gravações. Não havia ninguém bebendo, não havia sequer gente sorrindo, mas a atmosfera de comemoração era palpável. A série experimental, os primeiros doze gravadores a serem conectados, já recebia sinais. Leonard juntou-se ao grupo que os observava. Havia quatro aparelhos em operação, então um quinto começou a rodar e dali a pouco um sexto, depois um dos quatro primeiros parou e logo a seguir outro fez o mesmo. As unidades de ativação de sinal, aquelas que ele próprio instalara, estavam funcionando. Tinham sido testadas, mas jamais por uma voz ou código russo. Leonard suspirou e, por alguns instantes, Maria submergiu. Um alemão que estava por perto colocou a mão no ombro de Leonard e o apertou de leve. Outro dos homens de Gehlen, mais um Fritz, virou-se e abriu um largo sorriso para os dois. No hálito de ambos sentia-se o bafo da cerveja que haviam bebido no almoço. Em outros pontos da
sala eram feitas conexões e modificações de última hora. Algumas pessoas com pranchetas na mão formavam um grupinho presunçoso. Dois sujeitos de Dollis Hill estavam sentados ao lado de um terceiro, que escutava com atenção o que alguém, provavelmente MacNamee, dizia-lhe ao telefone. Então Glass entrou, acenou com a mão para Leonard e achegou-se a ele. Havia semanas que não tinha uma aparência tão boa. Estava com um terno diferente e a gravata de nó pronto era nova. Nos últimos tempos, Leonard andara evitando-o, ainda que sem despender muito empenho nisso. A tarefa que MacNamee lhe propusera deixava-o envergonhado na presença do único americano de quem podia se considerar amigo. Ao mesmo tempo, sabia que Glass tinha tudo para ser uma boa fonte. Glass o arrastou pela lapela até uma parte relativamente deserta da sala. A barba reassumira o velho aspecto aguerrido e umbroso. “Isto é um sonho”, disse. “A série experimental está perfeita. Em quatro horas a coisa toda estará funcionando.” Leonard começou a falar, mas Glass o interrompeu: “Ouça. Leonard, você não tem sido completamente franco comigo. Pensa que é capaz de me tapear?”. Glass sorria. Por um momento, Leonard achou que talvez houvesse pontos de escuta em toda a extensão do túnel. Mas MacNamee decerto saberia disso. “Do que você está falando?” “Ora, deixe disso. Esta cidade é pequena. Vocês foram vistos juntos. O Russell foi ao Resi no sábado e me contou. E, pelo que viu, acha que você já deve ter comido a moça uma porção de vezes. É verdade?” Leonard sorriu. Não conseguiu deixar de sentir um orgulho ridículo. Glass assumiu uma severidade fingida. “É a mesma garota, a que te mandou o bilhete? Aquela que você disse que não tinha dado em nada?” “Bom, no começo não deu mesmo.” “É incrível.” Glass colocara as mãos nos ombros de Leonard e o mantinha a distância com os braços esticados. Sua admiração e seu entusiasmo eram tão exuberantes que Leonard por pouco não se esqueceu dos acontecimentos recentes. “Vocês ingleses são mesmo uns come-quietos. Não ficam de sacanagem por aí, não fazem alarde, mas não dão ponto sem nó.” Leonard sentiu vontade de rir alto, era, tinha sido, uma conquista e tanto. Glass o soltou. “Escute aqui, na semana passada telefonei para o seu apartamento todas as noites. Você se mudou para a casa dela?” “Mais ou menos.” “Estava pensando em te convidar para um drinque, mas agora que me contou, por que não saímos todos juntos? Tenho uma amiga que é uma doçura, a Jean, da embaixada americana. Somos da mesma cidade, Cedar Rapids. Sabe onde fica?” Leonard olhou para os sapatos. “Bom, o problema é que eu e ela nos desentendemos. Foi meio sério. Ela resolveu passar uns tempos na casa dos pais.” “E onde é que eles moram?” “Ah, em algum lugar em Pankow.” “E quando foi isso?” “Anteontem.” A meio caminho de responder a esta última pergunta, Leonard compreendeu que Glass não estivera nem por um minuto brincando em serviço. Não foi a primeira vez na convivência com o americano que ele o pegou pelo cotovelo e o conduziu para outro lugar. Ninguém em sua vida, além de Maria e de sua mãe, havia tocado nele mais do que o americano. Passaram para a
quietude do corredor. Glass tirou uma caderneta do bolso. “Contou alguma coisa a ela?” “Claro que não.” “É melhor me dizer seu nome e endereço.” A pronúncia americanizada da última palavra suscitou em Leonard um acesso de irritação. “O nome é Maria. O endereço não é da sua conta.” A pequena exibição de emoção por parte do inglês pareceu exercer um efeito tonificante sobre Glass. Ele fechou os olhos e inspirou profundamente, como se inalasse uma fragrância. Depois disse com ponderação: “Vamos recapitular os fatos, depois você me diz se eu devia mesmo deixar isso para lá. Uma moça que você nunca viu na vida o aborda de maneira bastante inusitada num salão de dança. Você acaba levando a garota para a cama. Foi ela que o escolheu, não você a ela, certo? Você trabalha num projeto confidencial. Vai morar com ela. Um dia antes de instalarmos os grampos, ela se manda para o setor russo. O que é que vamos dizer aos nossos superiores, Leonard? Que você gostava demais dela e por isso decidimos não investigá-la? Que tal?”. Leonard sentiu uma pontada de dor ao pensar que Glass tinha razões legítimas para ficar a sós com Maria numa sala de interrogatório. Começou no alto do estômago e disseminou-se por suas entranhas. Disse ele: “Maria Eckdorf, Adalbertstrasse, 84, Kreuzberg. Erstes Hinterhaus, fünfter Stock, rechts”. “Um apartamento no último andar daqueles prédios sem água quente e sem elevador? É bem menos chique que o da Platanenallee. Ela disse que não queria ir para a sua casa?” “Eu é que não quis que ela fosse.” “Pois é”, prosseguiu Glass, como se Leonard não houvesse respondido, “se havia escutas no apartamento é claro que ela ia querer que você ficasse lá.” Por um átimo de puro ódio, Leonard viu-se agarrando a barba de Glass com ambas as mãos, arrancando-a, tirando junto um pouco de carne da cara, jogando aquele bolo vermelho e negro no chão e pisando em cima. Em vez disso, virou-se e saiu andando sem rumo. Voltou para a sala de gravações. Agora havia mais aparelhos funcionando. Por toda a sala os gravadores paravam e recomeçavam. Ele os havia vistoriado e adaptado, eram todos frutos de seu trabalho solitário e leal. Glass surgiu a seu lado. Tentando se esquivar, Leonard entrou por um dos corredores entre as prateleiras, mas dois técnicos bloqueavam o caminho. Voltou para trás. Glass chegou bem perto dele e disse: “Sei como é duro. Já vi isso antes. E provavelmente não é nada. Só precisamos executar os procedimentos de praxe. Mais uma pergunta e deixo você em paz. Ela trabalha de dia?”. Nenhum pensamento antecedeu a ação. Leonard encheu os pulmões e trovejou. Foi quase um berro. O ambiente na sala ficou pesado. Todos interromperam o trabalho e se viraram em sua direção. Só os gravadores continuavam rodando. “Se ela trabalha de dia?”, estrilou Leonard. “Como assim? Quer saber se ela tem outro trabalho além do que faz à noite? Está insinuando que ela é uma dessas mulheres da noite?” Glass fez um gesto descendente com a mão espalmada, uma mímica para sugerir que Leonard abaixasse o volume. Quando falou, foi pouco mais que um sussurro. Seus lábios mal se moviam. “Está todo mundo escutando, Leonard, inclusive alguns dos seus chefões, ali no telefone. Não deixe que pensem que você é biruta. Não lhes dê motivo para tirar você de cena.” Era verdade. Dois funcionários de alto escalão de Dollis Hill fitavam-no com uma expressão fria. Glass prosseguiu com sua voz de ventríloquo. “Faça exatamente o que eu digo e a gente dá um jeito
nisso. Você me bate no ombro e saímos juntos, como bons amigos.” Todos aguardavam o que viria a seguir. Não havia outra saída. Glass era seu único aliado. Leonard desferiu-lhe um soco canhestro no ombro. Na mesma hora o americano deu uma gargalhada convincente, colocou o braço em volta do ombro de Leonard e mais uma vez o conduziu rumo à porta. Entre uma risada e outra, murmurou: “Agora é com você, limpe a sua barra e ria, seu filho-da-mãe”. “Eh, eh”, disse com voz gutural o inglês, e depois mais alto: “Ah, ah, ah. Mulher da noite, essa foi boa. Mulher da noite!”. Glass também riu e atrás deles um vago murmúrio de conversa, uma onda amigável, avolumouse e empurrou-os para a porta. Estavam de volta ao corredor, só que dessa vez continuaram andando. Glass tornou a tirar a caderneta e o lápis do bolso. “Me conte onde é que ela trabalha, Leonard, depois tomamos um drinque na minha sala.” Leonard não conseguiu dizer tudo de uma só vez. A traição era grande demais. “É uma oficina mecânica do Exército. Do Exército britânico.” Deram mais alguns passos. Glass esperava. “Acho que é a reme. Fica em Spandau.” Depois, em frente à sala do americano: “O comandante é um tal de major Ashdown”. “Isso já basta”, rematou Glass, destrancando a porta e levando-o para dentro. “Quer uma cerveja? Ou prefere uísque?” Leonard optou pelo uísque. Só havia entrado uma vez naquela sala. A escrivaninha estava coberta de papéis. Tentava não olhar fixamente para eles, mas percebeu que parte do material era de caráter técnico. Glass serviu a bebida e perguntou: “Quer que eu vá buscar um pouco de gelo na cantina?”. Leonard assentiu com a cabeça e Glass saiu. Leonard aproximou-se da escrivaninha. Calculou que dispunha de pouco menos que um minuto.
10.
Todos os fins de tarde, ao voltar para casa, Leonard parava em Kreuzberg. Mal colocava os pés no andar de Maria, intuía que ela não estava em casa; mesmo assim, atravessava o patamar e batia na porta. Depois dos chocolates, não levou mais presentes. Depois da terceira carta, não escreveu mais. A senhora do apartamento que fedia a creolina no andar de baixo às vezes abria a porta e ficava observando-o descer a escadaria. Ao fim da primeira semana a fisionomia dela transparecia mais comiseração que hostilidade. Ele jantava em pé no Schnellimbiss da Reichskanzlerplatz e amiúde ia até o bar da rua estreita, a fim de adiar a hora de regressar à Platanenallee. Seu alemão já havia melhorado o suficiente para ele saber que os fregueses curvados sobre as mesas não estavam falando sobre genocídio. Era o habitual burburinho de bar, com comentários sobre o fim da primavera, o governo, a qualidade do café. Quando chegava em casa, resistia à poltrona e às lucubrações entorpecidas. Não se permitiria esmorecer. Obrigava-se a pequenas tarefas. Lavava as camisas no banheiro, esfregando os punhos e os colarinhos com uma escova de unha. Passava a roupa, engraxava os sapatos, tirava o pó dos móveis e empurrava a barulhenta vassoura de limpar carpete pelos cômodos. Escrevia para os pais. Apesar de todas as mudanças, não conseguia abandonar o tom enfadonho, a asfixiante falta de informações e de resultados. Queridos mãe e pai, Obrigado pela carta. Espero que estejam bem e já tenham sarado do resfriado. Ando muito ocupado no trabalho, as coisas estão indo de vento em popa. O tempo... O tempo. Nunca parava para pensar no tempo, a não ser quando escrevia para os pais. Fez uma pausa, e então lembrou. O tempo anda bastante úmido, mas agora até que tem feito uns dias mais quentes. O que começava a oprimi-lo — e tratava-se de uma ansiedade que as tarefas domésticas jamais poderiam calar por completo — era a possibilidade de Maria não voltar para o apartamento. Teria de descobrir o endereço da unidade do major Ashdown. Teria de ir a Spandau e encontrá-la na saída do trabalho, antes de ela tomar o trem para Pankow. Glass já devia ter falado com ela. Decerto ela pensava que Leonard estava tentando metê-la em encrenca. Devia estar furiosa. As chances de persuadi-la na calçada, à vista dos sentinelas, ou junto à bilheteria da estação do metrô, em meio à aglomeração de pessoas que voltavam para casa, eram reduzidas. Passaria por ele como se não o conhecesse, ou gritaria alguma obscenidade em alemão que todos compreenderiam menos ele. Para enfrentá-la, precisava de privacidade e de algumas horas. Aí ela poderia se enfurecer à vontade e depois acusá-lo e então lamentar o acontecido e por fim perdoá-lo. Teria sido capaz de desenhar um diagrama de circuito emocional para ela. No que se referia a suas próprias emoções, a retidão do amor começava a simplificálas. Quando ela soubesse o quanto ele a amava, teria de perdoá-lo. Quanto ao restante, o ato e suas causas, a culpa, a evasão, nessas coisas ele procurava a todo custo não pensar. Não ajudaria em nada ficar martelando isso na cabeça. Tentava ser invisível para si mesmo. Limpava a banheira, lavava o piso da cozinha e adormecia com razoável facilidade pouco depois da meianoite, ligeiramente reconfortado com a sensação de ter sido mal interpretado. Uma noite, na segunda semana do desaparecimento de Maria, Leonard ouviu vozes no
apartamento vazio do andar de baixo. Descansou o ferro de passar e foi até o patamar para ouvir. Pelo poço do elevador vinham sons de móveis sendo arrastados, passos e mais vozes. Na manhã seguinte, quando saiu para o trabalho, o elevador parou no andar de baixo. O homem que entrou cumprimentou-o com a cabeça, depois olhou para o outro lado. Devia ter trinta e poucos anos e levava uma pasta de executivo. Tinha uma barba bem aparada, em estilo naval, e exalava um perfume de água-de-colônia. Até um sujeito como Leonard percebia que seu terno azul-marinho era de excelente corte. Os dois desceram em silêncio. Com um gesto econômico da mão espalmada, o estranho deixou que Leonard o precedesse na saída do elevador. Tornaram a se encontrar dois dias mais tarde, no térreo, à porta do elevador. A noite ainda não caíra por completo. Leonard vinha de Altglienicke, tendo passado por Kreuzberg e bebido seus habituais dois litros de cerveja. As luzes do vestíbulo não haviam sido acesas. Quando Leonard postou-se ao lado do homem, o elevador acabara de subir para o quinto andar. No intervalo de tempo que ele levou para voltar ao térreo, o sujeito estendeu a mão e, sem sorrir nem alterar — pelo menos até onde Leonard pôde perceber — minimamente a expressão, disse: “George Blake. Eu e minha mulher moramos bem debaixo dos seus pés”. Leonard apresentou-se e perguntou: “Ando fazendo muito barulho?”. O elevador chegou e eles entraram. Blake apertou o quarto e o quinto botões. Depois que começaram a subir, ele mediu Leonard dos pés à cabeça e disse em tom neutro: “Umas pantufas ajudariam”. “Puxa, sinto muito”, disse Leonard com o máximo de agressividade que ousou deixar transparecer. “Vou arrumar um par.” O vizinho concordou com a cabeça e comprimiu os lábios, como que para dizer: É esse o espírito. A porta se abriu e ele saiu sem dizer nenhuma outra palavra. Leonard chegou ao apartamento decidido a castigar o piso com mais força que nunca. Mas não conseguiu se obrigar a isso. Detestava fazer coisas erradas. Avançou com passos pesados pelo hall e tirou os sapatos na cozinha. Nos meses que se seguiram, cruzou algumas vezes com a sra. Blake no prédio. Tinha um rosto bonito, costas bem eretas e, embora sorrisse para Leonard e o cumprimentasse, ele a evitava. Em sua presença, sentia-se desprezível e desajeitado. Certa vez a ouviu falando no vestíbulo e seu tom de voz pareceu-lhe intimidador. O marido tornou-se um pouco mais simpático ao longo do verão. Disse que trabalhava no Estádio Olímpico, era funcionário do Ministério das Relações Exteriores, e demonstrou um interesse cortês quando Leonard contou que trabalhava no Post Office, instalando linhas internas para o Exército. Depois disso, nas poucas oportunidades em que se cruzavam no vestíbulo ou dividiam o elevador, nunca deixava de perguntar: “E como é que vão as nossas linhas internas?”, com um sorriso que deixava Leonard em dúvida sobre se o sujeito não estaria debochando dele. No armazém, a instalação da escuta fora considerada um sucesso. Cento e cinqüenta gravadores paravam e recomeçavam, dia e noite, acionados pelos sinais russos amplificados. O lugar rapidamente se esvaziou. Os escavadores de túneis horizontais, os sargentos da escavação, tinham ido embora havia muito. Os escavadores britânicos, especialistas em túneis verticais, haviam se retirado no auge da agitação, e ninguém reparara em sua partida. Todos os outros tipos de especialistas, cujas áreas de atuação pareciam ser conhecidas só por eles próprios, foram desaparecendo, e o mesmo aconteceu com os funcionários de alto escalão de Dollis Hill. MacNamee aparecia uma ou duas vezes por semana. Só o que restou foram os homens que monitoravam e distribuíam as fitas magnéticas, e eles eram os mais ocupados e menos
comunicativos. Somavam-se a eles uns poucos técnicos e engenheiros, responsáveis por manter os sistemas em operação, e o pessoal da segurança. Às vezes Leonard via-se almoçando numa cantina deserta. Fora informado de que permaneceria no armazém por tempo indeterminado. Executava inspeções de rotina para verificar a integridade dos circuitos e trocava as válvulas defeituosas dos gravadores. Glass afastou-se do armazém, o que, a princípio, deixou Leonard aliviado. Não desejava que o americano lhe trouxesse notícias de Maria antes de ele ter se reconciliado com ela. Não queria que Glass exercesse nenhum poder sobre ele por lhe servir de intermediário. Depois, começou a arranjar desculpas para passar várias vezes ao dia por seu escritório. Ia com freqüência ao bebedouro. Tinha certeza de que as suspeitas levantadas contra Maria se mostrariam infundadas, mas estava apreensivo com relação a Glass. As entrevistas haveriam de servir como oportunidades de sedução. Se Maria continuasse zangada e Glass se mostrasse suficientemente impetuoso, o pior poderia estar acontecendo no instante mesmo em que Leonard estacava defronte à porta trancada. Houve momentos em que esteve na iminência de ligar para Glass de sua casa. Mas o que iria perguntar? Como faria para tolerar a confirmação ou acreditar na negativa? E havia a possibilidade de que a própria pergunta servisse de estímulo a Glass. À medida que os dias de maio foram ficando mais quentes, os americanos de folga passaram a organizar partidas de softball no terreno baldio entre o armazém e a cerca. Tinham ordens rígidas de usar as insígnias dos operadores de radar. À beira do cemitério, os Vopos observavam o jogo com binóculos, e quando um lançamento muito forte fazia a bola cair do lado de lá da fronteira, corriam prontamente em sua direção para atirá-la de volta. Os jogadores os festejavam e os Vopos acenavam afavelmente. Leonard assistia às partidas sentado de costas contra a parede do edifício. Uma das razões de sua recusa em participar era a opinião de que o softball não passava de um rounders1 para homens crescidos. O outro motivo era o fato de se sentir um inútil em qualquer tipo de jogo com bola. Nas partidas disputadas ali, os arremessos eram fortes, baixos e impiedosamente certeiros, e as bolas eram sempre apanhadas com naturalidade compulsória. Nessa época havia horas de ócio todos os dias. Leonard amiúde se recostava à parede ensolarada, debaixo de uma janela aberta. Um dos escriturários americanos costumava apoiar no peitoril um rádio sintonizado na Voz da América. Quando a emissora tocava uma canção animada, não era raro que o lançador marcasse o ritmo, batendo com as mãos nos joelhos antes de fazer o arremesso, e os homens que ocupavam as bases estalavam os dedos, ensaiando breves passos de dança. Leonard jamais vira a música popular ser levada tão a sério. Só havia um artista capaz de interromper temporariamente o jogo. Se fosse Bill Haley e seus Cometas, e sobretudo se fosse “Rock around the clock”, soavam clamores para que o volume fosse aumentado e alguns jogadores eram atraídos para perto da janela. Por dois minutos e meio ninguém podia ser eliminado. A Leonard aquela exortação desenfreada, aquele despropósito de incitar as pessoas a passar horas a fio dançando, parecia pueril. Era como as cantigas que as meninas entoavam ao pular corda durante o recreio. Era um dois, feijão com arroz, era a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três. Todavia, a repetição fez com que o ritmo frenético e a insistência viril da guitarra começassem a mexer com ele, e Leonard deixou de detestar a canção. Agora apenas fingia detestá-la. Em pouco tempo já se alegrava quando, ao ouvir a deixa do locutor, o responsável pela correspondência do armazém atravessava seu escritório e aumentava o volume. Mais de meia dúzia de jogadores se aproximava, formando um semicírculo em torno do lugar onde ele se
achava sentado. Eram em sua maioria sentinelas, jovens que não haviam chegado aos vinte anos de idade, rapazes imaculados e enormes, com cabelos à escovinha. A essa altura todos já o conheciam pelo primeiro nome e sempre se mostravam afáveis. Para eles a canção parecia ter uma importância que transcendia a esfera musical. Era um hino, um rito, unindo-os e apartandoos dos jogadores mais velhos que aguardavam no campo. Esse estado de coisas durou somente três semanas, depois a canção perdeu seu fascínio. Era tocada em volume alto, mas já não interrompia o jogo. Mais tarde passou a ser completamente ignorada. Tinha de ser substituída, mas isso só veio a acontecer em abril do ano seguinte. Uma tarde, quando o sucesso de Bill Haley no armazém estava no auge, e bem na hora em que os jovens americanos se acotovelavam em volta da janela aberta, John MacNamee apareceu à procura de seu espião. Leonard o avistou saindo dos escritórios administrativos e caminhando em direção à algazarra. MacNamee ainda não o vira e ele tinha o tempo exato para se dissociar de algo que o cientista britânico sem dúvida devia desprezar. Não obstante, sentiu um quê de rebeldia, bem como certo grau de lealdade para com o grupo. Era um membro honorário. Chegou a uma solução de compromisso levantando-se e abrindo caminho até a beira do ajuntamento, e ali ficou aguardando. Assim que MacNamee o viu, veio até ele e, juntos, os dois se afastaram para um passeio ao longo da cerca. MacNamee mantinha o cachimbo aceso entre os dentes de leite. Inclinou-se sobre o pupilo. “Imagino que não tenha tido sorte.” “De fato não tive”, respondeu Leonard. “Consegui entrar em cinco escritórios com tempo de dar uma boa espiada em tudo. Não encontrei nada. Falei com várias pessoas da área técnica. Todos ficavam arredios quando a conversa derivava para questões de segurança. Não dava para pressioná-los demais.” A verdade é que ele dispusera, sem sucesso, de um minuto no escritório de Glass. Não sabia puxar conversa com estranhos. Experimentara uma ou duas portas trancadas, e só. Disse MacNamee: “Tentou falar com aquele camarada, o Weinberg?”. Leonard conhecia o sujeito, um americano magricela que vivia de gorro na cabeça e jogava xadrez sozinho na cantina. “Tentei, mas ele não quis saber de papo.” Interromperam a caminhada e MacNamee comentou: “Ah, puxa...”. Olhavam para a Schönefelder Chaussee, mais ou menos ao longo da linha por onde passava o túnel. “Que péssima notícia”, lamentou o cientista. Sua voz soou com uma rispidez que não lhe era comum, pensou Leonard, uma circunspecção em que havia mais do que desapontamento. Leonard disse: “Eu bem que tentei”. Ao falar, MacNamee desviou o olhar. “Temos outras possibilidades, é claro, mas continue tentando.” A ênfase desanimada que deu a esta última palavra, um eco da maneira como o próprio Leonard a pronunciara, sugeria ceticismo, uma espécie de acusação. Com um resmungo de despedida, MacNamee saiu rumo às instalações administrativas. Na mesma hora assomou à mente de Leonard uma imagem em que Maria também o deixava, afastando-se pelo terreno baldio. Maria e MacNamee davam-lhe as costas. Do outro lado, os americanos já haviam retornado ao jogo. O fracasso tomou conta dele sob a forma de um bambeio nas pernas. Estivera prestes a voltar para o lugar ao pé da janela, mas por ora desistira, e continuou onde estava, alheio, perto da cerca.
1. Jogos semelhantes ao beisebol. O tipicamente britânico rounders é, em geral, praticado por crianças. (N. T.)
11.
No fim da tarde seguinte, ao sair do elevador, Leonard deparou com Maria esperando-o junto à porta de seu apartamento. Estava parada num canto, o casaco abotoado, as duas mãos na alça da bolsa que pendia à sua frente, cobrindo os joelhos. A postura talvez pudesse sinalizar contrição, mas ela mantinha a cabeça erguida e os olhos pregados nos dele, desafiando-o a ousar supor que por tê-lo procurado ela o havia perdoado. O crepúsculo chegava ao fim e era muito pouca a luz natural que entrava no patamar pela janela da face leste. Leonard pressionara o interruptor de luz, dando início ao tique-taque do temporizador. O som assemelhava-se às batidas do coração em pânico de uma criaturinha minúscula. As portas fecharam-se atrás dele e o elevador desceu. Pronunciou o nome dela, mas não fez nenhum movimento em sua direção. A luz da única lâmpada suspensa no teto projetava sombras profundas sob os olhos e o nariz de Maria, dando a seu rosto uma fisionomia acerba. Ela ainda não havia falado nada, não saíra do lugar. Fitava-o, esperando que ele dissesse o que tinha a dizer. O casaco abotoado e a maneira formal de segurar a bolsa indicavam que estava pronta para ir embora caso isso não a satisfizesse. Leonard sentia-se confuso. Uma quantidade excessiva de frases pela metade amontoava-se à sua frente. Ganhara um presente que podia facilmente se quebrar quando o desembrulhasse. O mecanismo do temporizador corria solto, estorvando-lhe a tentativa de se apegar a uma linha coerente de pensamento. Pronunciou o nome dela de novo — o som simplesmente lhe saiu garganta afora — e deu meio passo em sua direção. Do poço veio o estrépito dos cabos içando sua carga, o suspiro do elevador ao parar no andar de baixo, depois as portas se abrindo e a voz do sr. Blake, que soou insistente e abafada até ser abruptamente emudecida pelo barulho da porta do apartamento que se fechava. A expressão de Maria permanecia inalterada. Por fim ele perguntou: “Recebeu as cartas?”. Ela piscou afirmativamente. As três cartas de amor, com seus sôfregos pedidos de desculpas, assim como os chocolates e as flores, não seriam levadas em conta. Disse ele: “O que eu fiz foi de uma estupidez sem tamanho”. Ela piscou de novo. Desta vez os cílios se tocaram por um tempo ligeiramente maior, sugerindo um abrandamento, uma forma de encorajamento. Ele havia encontrado o tom certo, a simplicidade. Não era tão difícil assim. “Eu estraguei tudo. Depois que você foi embora, fiquei desesperado. Quis procurá-la em Spandau, mas tive vergonha. Achava que você nunca me perdoaria. Tive vergonha de tentar falar com você na rua. Eu te amo tanto. Não consigo tirar você da cabeça. Compreenderei se não puder me perdoar. Foi uma coisa horrível, uma estupidez...” Nunca na vida Leonard falara de si e de seus sentimentos de tal maneira. Não havia sequer pensado nesses termos. Basicamente, jamais reconhecera em si mesmo uma emoção séria. Jamais fora muito além de dizer que tinha gostado do filme da noite anterior ou que detestava leite morno. Na realidade, até então era como se ele de fato nunca houvesse tido nenhuma emoção séria. Só nesse momento, ao nomeá-las — vergonha, desespero, amor — foi que as pôde verdadeiramente reclamar para si e experimentá-las. A palavra realçou o amor que sentia pela mulher parada à porta de seu apartamento e acentuou a vergonha por tê-la atacado. Ao lhe dar um
nome, a infelicidade das três semanas anteriores se esclarecera. Sentia-se alforriado, livre daquele peso nos ombros. Agora que sabia nomear o nevoeiro que estivera atravessando, tornara-se enfim visível a si mesmo. Porém não havia se safado. Maria não saíra do lugar, nem despregara os olhos dele. Após uma pausa, Leonard disse: “Por favor, me perdoe”. Nesse exato instante o temporizador fez um clique e a luz apagou. Ele ouviu a inspiração brusca de Maria. Quando sua vista se adaptou à penumbra, notou a luminosidade da janela atrás dele se refletindo no fecho da bolsa e no branco dos olhos que ela pareceu desviar furtivamente para o lado. Resolveu correr o risco de se afastar do interruptor sem pressioná-lo novamente. Sua exultação enchia-lhe de confiança. Havia se comportado mal, agora iria consertar as coisas. O que se pedia dele era verdade e simplicidade. Não se embrenharia mais em seu sofrimento feito um sonâmbulo, trataria de designá-lo pelo nome apropriado e assim o dispersaria. E graças à oportunidade proporcionada por esse luscofusco, sentiu-se prestes a restabelecer, por via do toque, o antigo vínculo que havia entre eles, aquele vínculo simples, verdadeiro. As palavras viriam depois. Por ora, estava convencido, só precisavam se dar as mãos, talvez até se beijar de leve. Quando ele avançou em sua direção, Maria enfim se moveu, recuando para o canto do patamar, penetrando mais fundo na sombra. Ao se aproximar, Leonard estendeu a mão, mas ela já não estava no mesmo lugar. Roçou a manga de seu casaco. Ela pareceu esquivar a cabeça e ele tornou a ver o branco de seus olhos. Encontrou seu cotovelo e segurou-o com delicadeza. Murmurou seu nome. Ela mantinha o braço dobrado, oferecendo uma resistência inflexível, e Leonard sentiu, através do tecido do casaco, o tremor que lhe tomara conta do corpo. Agora que havia chegado mais perto, percebia que sua respiração era curta e acelerada. Havia um odor suarento no ar. Pensou por um momento que ela de súbito atingira os extremos da excitação sexual; pensamento que assumiu contornos blasfemos tão logo levou a mão a seu ombro, fazendo-a emitir um som inarticulado, entre a súplica e o rugido, seguido de: “Mach das Licht an. Bitte!”. Acenda a luz, e depois: “Por favor, por favor”. Ele acrescentou a outra mão ao ombro dela. Sacudiu-a com delicadeza, tentando tranqüilizá-la. Tudo o que queria era despertá-la desse pesadelo. Precisava lembrá-la de quem ele de fato era, o jovem inocente que ela adulara e instruíra de forma tão carinhosa. Ela protestou de novo, dessa vez a plenos pulmões, um grito lancinante. Ele recuou. Uma porta se abriu no andar de baixo. Ouviram-se passos apressados na escadaria que circundava o poço do elevador. Leonard pressionou o interruptor bem na hora em que o sr. Blake terminava de contornar o patamar intermediário. O último lance de escada ele o venceu galgando os degraus de três em três. Estava em mangas de camisa, sem gravata e exibia braçadeiras de prata em volta dos bíceps. Tinha uma expressão severa no rosto, emanando feroz competência militar, e já vinha com as mãos retesadas e espalmadas, prontas para entrar em ação. Estava preparado para causar um belo estrago em quem encontrasse pela frente. Quando chegou ao topo da escadaria e Leonard entrou em seu campo de visão, não descarregou o semblante. Maria deixara cair a bolsa no chão e erguera as mãos para cobrir o nariz e a boca. Blake postou-se entre os dois. Tinha as mãos na cintura. Já compreendera que não precisaria bater em ninguém, e isso só fez aumentar sua ferocidade. “O que é que está acontecendo aqui?”, perguntou a Leonard e, sem esperar pela resposta, virou-se impacientemente para confrontar Maria. Falou num tom de voz gentil: “Está ferida? Ele tentou machucar você?”.
“É claro que não”, reagiu Leonard. Blake bradou por cima do ombro: “Cale a boca!”, e voltou-se para Maria. Sua voz tornou-se imediatamente delicada de novo. “E então?” Parecia um ator de comédias radiofônicas, pensou Leonard, interpretando todas as vozes. Por não lhe agradar que Blake ficasse entre eles como um árbitro, Leonard foi até a outra extremidade do patamar, pressionando o interruptor pelo caminho, a fim de garantir mais noventa segundos de iluminação. Blake aguardava que Maria se manifestasse, mas parecia saber que Leonard vinha se aproximando por trás. Esticou o braço para impedi-lo de passar por ele e chegar perto da moça. Ela havia dito algo que Leonard não compreendera direito e Blake objetou num alemão desenvolto. A aversão que Leonard sentia por ele tornou-se ainda maior. Foi por lealdade a Leonard que Maria respondeu em inglês? “Sinto muito pelo barulho e por tê-lo feito sair de sua casa. É só um desentendimento entre nós, nada mais. Prometo que não acontecerá de novo.” Ela havia tirado as mãos do rosto. Apanhou a bolsa. Tê-la nas mãos pareceu recompô-la. Desviou de Blake para falar, ainda que sem se dirigir diretamente a Leonard. “Vamos entrar.” Leonard tirou a chave do bolso e passou pelo paladino de Maria para abrir a porta. Inclinou-se para dentro e acendeu a luz do hall. Blake não saíra do lugar. Ainda não se dera por satisfeito. “Não quer que eu chame um táxi? Eu e minha mulher lhe faríamos companhia enquanto espera.” Maria cruzou o limiar da porta e voltou-se para agradecer. “Obrigada, é muito gentil da sua parte, mas estou bem agora.” Avançou com passos seguros pelo hall do apartamento em que nunca havia estado antes, entrou no banheiro e fechou a porta. Blake aguardava no topo da escadaria com as mãos nos bolsos. Leonard sentia-se muito vulnerável e estava irritado demais com o vizinho para lhe dar mais explicações. Estacou diante da porta, indeciso, sem conseguir entrar antes que o outro fosse embora. Blake disse: “As mulheres geralmente gritam desse jeito quando pensam que estão prestes a ser estupradas”. A ridícula exibição de conhecimento de causa pedia uma réplica elegante. Leonard matutou por alguns segundos. O que o tolhia era o fato de estar sendo equivocadamente tomado por estuprador quando, de fato, quase agira como tal. Por fim disse: “Não neste caso”. Blake encolheu os ombros para indicar seu ceticismo e desceu as escadas. Daí em diante, sempre que se encontravam no elevador, os dois homens guardavam um silêncio frio. Maria havia trancado a porta do banheiro e lavara o rosto. Baixou a tampa da privada e ali se sentou. Surpreendera-se a si mesma com seu grito. Não achava que Leonard fosse realmente atacá-la de novo. Suas desculpas desajeitadas e sinceras haviam lhe parecido garantia suficiente. Mas a escuridão repentina e sua silenciosa aproximação, as possibilidades, as associações tinham sido demais para ela. O equilíbrio delicado que havia desenvolvido durante as três semanas passadas no asfixiante apartamento dos pais, em Pankow, desfizera-se ao sentir o toque da mão de Leonard. Era uma espécie de insanidade esse medo de que, ao alegar afeição, a pessoa pretendesse lhe fazer algum mal. Ou de que uma malignidade que ela mal chegava a compreender assumisse a aparência externa de intimidade sexual. Por mais terríveis que fossem, as agressões ocasionais de Otto não lhe suscitavam nada que se comparasse a esse medo doentio. A violência do ex-marido era um aspecto de seu ódio impessoal e de seu desamparo entorpecido. Ele queria efetivamente bater nela ao mesmo tempo que a desejava ardentemente. Queria
intimidá-la, não arrancar seu dinheiro. Não queria entrar dentro dela, não lhe pedia para confiar nele. O tremor em seus braços e pernas cessara. Sentia-se uma tola. O vizinho desdenharia dela. Em Pankow, chegara pouco a pouco à conclusão de que Leonard não era perverso nem cruel, e que fora uma estultícia inocente que o havia feito se comportar daquele jeito. Ele vivia tão intensamente fechado em si mesmo que mal se dava conta da impressão que suas ações causavam nos outros. Esse era o julgamento benigno que ela havia formulado depois de avaliações bem mais duras e resoluções enfáticas de nunca tornar a vê-lo. Agora, com o grito no escuro, seus instintos pareciam ter-lhe sobrepujado o perdão. Se não podia mais confiar nele, mesmo que essa desconfiança fosse irracional, o que fazia no banheiro de seu apartamento? Por que não havia aceitado, quando o vizinho se ofereceu para chamar um táxi? O desejo que sentia por Leonard não desaparecera, tinha percebido isso em Pankow. Mas que tipo de homem era esse que avançava sorrateiramente no escuro para pedir perdão por um estupro? Dez minutos depois, ao sair do banheiro, estava decidida a falar ainda uma vez com Leonard para ver o que sucedia. Não se comprometia a ficar ou partir. Permaneceu com o casaco abotoado até o pescoço. Ele a aguardava na sala de estar. As luzes do teto estavam acesas, o mesmo acontecendo com a luminária de chão e os abajures do Exército. Assim parado no meio da sala, ele parecia, pensou Maria ao entrar, um menino que houvesse acabado de receber uma surra nas nádegas. Leonard indicou-lhe uma cadeira. Ela recusou com a cabeça. Um dos dois teria de falar primeiro. Maria não via por que haveria de ser ela e Leonard não queria cometer outro equívoco. Ela adentrou um pouco mais na sala e ele deu alguns passos para trás, inconscientemente lhe concedendo mais espaço e luz. Leonard tinha na cabeça os traços gerais de um discurso, mas não estava seguro de como suas palavras seriam recebidas. Se Maria girasse nos calcanhares e saísse batendo a porta, dispensando-o da responsabilidade de oferecer mais explicações, ele teria ficado aliviado, ao menos no início. Quando se achava sozinho, num certo sentido ele deixava de existir. Ali, naquele momento, via-se obrigado a assumir o controle da situação, sem estragar tudo. Maria observava-o expectante. Estava lhe concedendo uma nova chance. Seus olhos luziam. Ele se indagou se ela teria chorado no banheiro. Ele disse: “Não pretendia assustá-la”. Foi uma tentativa de sondar o terreno, quase uma pergunta. Porém Maria ainda não tinha uma resposta para ele. Durante todo esse tempo não lhe dirigira a palavra. Falara apenas com o sr. Blake. Leonard prosseguiu: “Eu não ia... fazer nada. Só queria...”. Soava implausível. Titubeou. Chegar perto dela no escuro e segurar sua mão, fora só isso o que pretendera fazer, iluminar nos velhos termos do toque. Partira da suposição infundada de que estaria mais seguro se se aproximasse disfarçadamente. Não seria capaz de lhe dizer, ele próprio mal o sabia, que a escuridão em que o patamar acidentalmente mergulhara parecera-lhe análoga à que eles haviam experimentado sob as cobertas na semana mais fria do inverno, um retorno à antiga familiaridade em que tudo fora novo. A superfície calosa de seus dedos do pé, a mancha congênita com os dois pêlos, os minúsculos entalhes nos lóbulos das orelhas. Se ela se fosse, o que ele faria com todos esses fatos amorosos, esses detalhes torturantes? Se ela o deixasse, como faria para suportar sozinho todo esse conhecimento que acumulara a respeito dela? A força dessas considerações impulsionou-lhe as palavras boca afora, e enunciá-las foi tão fácil quanto respirar. “Eu te amo”, disse, e disse novamente, e repetiu em alemão até eliminar os últimos laivos de constrangimento, a tolice arrepiante da fórmula, até
ela soar límpida e vibrante, como se ninguém, na vida ou no cinema, jamais a houvesse pronunciado antes. Depois falou do sofrimento que havia experimentado por estar longe dela, do quanto pensara nela, da felicidade em que vivia antes de ela partir, de quão felizes achava que ambos haviam sido, de como ela era preciosa, linda, e de como ele fora um imbecil, um idiota egoísta e ignorante, por tê-la amedrontado. Jamais dissera tantas coisas de uma tirada só. Nos intervalos, enquanto buscava as frases inusitadas, íntimas, ele ajeitava os óculos, empurrando-os para o alto do nariz, ou tirava-os, examinava-os detidamente e depois os recolocava. Sua estatura parecia operar contra ele. Gostaria de se sentar, mas ela permanecia em pé. Observá-lo expor-se daquela maneira, esse inglês desengonçado e retraído que sabia tão pouco sobre seus sentimentos, beirava o insuportável. Parecia um prisioneiro num julgamento público russo. Maria gostaria de lhe pedir que parasse, mas estava fascinada, do mesmo modo que uma vez, ainda menina, ficara magnetizada quando seu pai removera a parte de trás de um rádio e lhe mostrara as válvulas e as chapas de metal corrediças responsáveis pelas vozes humanas que saíam do aparelho. Não havia perdido contato com o medo, se bem que ele diminuísse a cada intimidade hesitantemente revelada. Portanto ficou escutando, sem trair nenhuma emoção no semblante, enquanto Leonard tornava a dizer que não sabia o que houvera com ele, que não tivera a intenção de machucá-la e que aquilo nunca, nunca mais se repetiria. Por fim ele se exauriu. Só restou o som de uma lambreta cruzando a Platanenallee. Ouviram-na reduzir a marcha no fim da rua e depois se afastar. O silêncio o fez pensar que estava perdido. Não tinha coragem de olhar para ela. Tirou os óculos e limpou as lentes com o lenço. Falara demais. Soara desonesto. Se ela fosse embora agora, pensou, ele tomaria um banho. Não se afogaria. Levantou os olhos. Discerniu uma movimentação em torno do borrão delgado que representava Maria em seu campo de visão. Recolocou os óculos no rosto. Ela estava desabotoando o casaco; depois atravessou a sala em sua direção.
12.
Leonard vinha pelo corredor, percorrendo o trajeto que ia do bebedouro à sala de gravações, coisa que o fazia passar pelo escritório de Glass. A porta estava aberta e o americano achava-se sentado à escrivaninha. Ele ficou imediatamente em pé e fez um gesto para que Leonard entrasse. “Tenho boas novas. Checamos aquela moça. Não encontramos nada. Está limpa.” Indicou uma cadeira com a mão, mas Leonard permaneceu encostado ao batente da porta. “Isso eu já tinha dito.” “Era uma opinião subjetiva. Agora a coisa é oficial. E que garota linda, hein? O comandante e o subcomandante daquela casinha de brinquedos que vocês chamam de oficina mecânica são doidos por ela, à maneira britânica, claro. Mas ela é muito direita, não os deixa sair da linha.” “Quer dizer então que a conheceu.” Leonard já soubera, por Maria, das três entrevistas com Glass. Não gostara disso. Tinha detestado. Precisava descobrir o que havia se passado entre eles. “Claro que sim. Ela me contou que vocês dois não andavam se entendendo e que por ora ela não queria vê-lo pela frente. Eu disse a ela: ‘Mas que história é essa? Estamos gastando horas preciosas com você, moça, e sabe por quê? Porque anda saindo com um dos nossos melhores homens. O rapaz é um verdadeiro gênio, pombas, e está fazendo um trabalho importantíssimo para o meu país e o dele’. Isso foi quando tive certeza de que ela não estava metida em nenhuma sujeira. Então eu disse: ‘Trate de ir agora mesmo ao apartamento do Leonard e faça as pazes com ele. Não pode ficar brincando com um sujeito como Herr Marnham, mocinha. Não sei o que seria de nós sem ele, e a senhorita devia se considerar uma garota de muita sorte, Frau Eckdorf!’. E então, ela voltou?” “Anteontem.” Glass soltou uma exclamação festiva e pôs-se a rir com afetação. “Viu só? Acabei te quebrando um grande galho. Enchi sua bola e você a ganhou de volta. Estamos quites.” Que coisa infantil, pensou Leonard, essa conversa de vestiário sobre sua vida íntima. Disse: “Como foram essas entrevistas?”. A rapidez com que Glass transitou do tom hilário para o grave tinha um quê de zombaria. “Ela me disse que você começou a se mostrar bruto com ela. Contou que teve de fugir para salvar a pele. Puxa, Leonard, não sei por que sempre o subestimo. Você esconde um fogaréu e tanto aí dentro, hein? No trabalho é manso e dócil como um cordeirinho, mas quando chega em casa, bum!, vira o King Kong.” Glass tornou a rir, dessa vez genuinamente. Leonard irritou-se. Na noite anterior, Maria lhe contara tudo sobre os interrogatórios, os quais a haviam deixado bastante impressionada. Glass sentara-se de novo e Leonard ainda não conseguira dissipar suas dúvidas. Podia realmente confiar nesse sujeito? Não havia como negar: de uma maneira ou de outra, Glass se enfiara na cama com eles. Quando o americano parou de rir, Leonard disse: “Não me orgulho nem um pouco do que fiz”. E acrescentou, com o que lhe pareceu ser o grau apropriado de ameaça: “Minhas intenções com
essa moça são as mais sérias possíveis”. Glass levantou-se e apanhou o paletó. “E faz muito bem. Essa pequena é uma doçura, uma verdadeira doçura.” Leonard ficou de lado enquanto o americano trancava o escritório. “Ela é uma verdadeira ‘tetéia’, não é assim que vocês falam?” Glass colocou a mão no ombro do inglês e caminhou a seu lado pelo corredor. A imitação do cockney fora displicente, intencionalmente consternadora, pensou Leonard. “Deixe de onda, rapaz. Vamos lá, vamos tomar um chá para ver se você se anima.”
13.
Leonard e Maria recomeçaram em novos termos. Quando o verão de 1955 chegou, já dividiam melhor seu tempo entre os dois apartamentos. Haviam sincronizado o retorno do trabalho. Maria cozinhava, Leonard lavava a louça. Durante a semana, ao cair da tarde, caminhavam até o Estádio Olímpico para nadar na piscina ou, quando estavam em Kreuzberg, optavam entre passear ao longo do canal ou tomar uma cerveja em algum bar com mesinhas na calçada, nas proximidades da Mariannenplatz. Maria pediu duas bicicletas emprestadas a uma amiga do clube de ciclismo. Nos fins de semana, eles pedalavam até os vilarejos de Frohnau e Heiligensee, ao norte, ou seguiam em sentido oeste até Gatow, onde exploravam os limites da cidade vagando por trilhas que cruzavam prados desabitados. Era uma região em que se sentia o aroma de água no ar. Faziam piqueniques às margens do lago Gross-Glienicker, onde viam aviões da Royal Air Force varando o céu, e nadavam até as bóias vermelhas e brancas que demarcavam a divisão entre os setores britânico e russo. Iam até Kladow, à beira do enorme Wannsee, atravessavam o lago de balsa e depois retornavam de bicicleta, passando por ruínas e canteiros de obras, rumo ao centro da cidade. Nas noites de sexta e sábado, iam ao cinema na Ku’damm. Depois se misturavam com a multidão para brigar por uma mesa externa no Kempinski’s, ou iam a seu lugar favorito, o elegante bar do Hotel am Zoo. Amiúde terminavam a noite jantando uma segunda vez no Aschinger’s, onde Leonard gostava de se empanturrar com sopa de ervilhas amarelas. No aniversário de trinta e um anos de Maria, saíram para jantar e dançar no Maison de France. Leonard fez o pedido em alemão. Depois foram ao Eldorado assistir a um show de cabaré, em que travestis que pareciam realmente mulheres cantavam as animadas canções de sempre, acompanhados por um piano e um contrabaixo. Quando chegaram em casa, Maria, ainda um pouco alta, quis que Leonard experimentasse um de seus vestidos. O inglês disse para ela deixar de besteira. Quando passavam a noite em casa, no apartamento dele ou no dela, mantinham o rádio sintonizado na Voz da América para escutar os mais recentes rhythm and blues americanos. Adoravam “Ain’t that a shame”, de Fats Domino, “Maybelline”, de Chuck Berry, e “Mystery train”, de Elvis Presley. Esse tipo de música fazia com que se sentissem livres. De vez em quando ouviam Russell, o amigo de Glass, dando aulas de cinco minutos sobre as instituições democráticas do Ocidente, explicando o funcionamento da Câmara Alta em diversos países, exaltando o papel do Judiciário independente, frisando a importância da tolerância religiosa e racial, e coisas assim. Concordavam com tudo o que ele dizia, mas sempre abaixavam o volume, esperando pela canção seguinte. Às vezes chovia ao anoitecer e eles não saíam. Permaneciam em casa, cada um em seu canto, sem se falar por intervalos que chegavam a durar uma hora, Maria com um de seus romances açucarados, Leonard com um exemplar do Times de dois dias antes. Sempre que lia um jornal, especialmente este, tinha a sensação de estar imitando outra pessoa ou treinando para ser adulto. Acompanhou as notícias sobre a reunião de cúpula entre Eisenhower e Kruschev, depois fez um
relato a Maria sobre os temas negociados e debatidos, falando com a urgência de alguém que fosse pessoalmente responsável pelos resultados do encontro. Dava-lhe grande satisfação saber que, se abaixasse a página, sua mulher estaria ali. Ignorar a presença dela era um luxo. Sentia-se orgulhoso, estabilizado na vida, enfim um homem realmente maduro. Nunca falavam sobre seu trabalho, mas ele sentia que era algo que a impressionava. A palavra casamento jamais era mencionada, se bem que acontecesse de Maria diminuir o passo quando se viam diante das vitrines das lojas de móveis da Ku’damm e Leonard houvesse instalado uma prateleira capenga no banheiro do apartamento de Kreuzberg, a fim de que seus utensílios de barbear pudessem ficar juntos do solitário pote de creme hidratante de Maria e as escovas de dentes deles repousassem lado a lado dentro de uma caneca. Tudo isso era permeado pela sensação de aconchego e companheirismo. Estimulado por Maria, Leonard dedicava-se a aperfeiçoar seu alemão. Ela ria de seus erros. Eles se provocavam mutuamente, davam muitas risadas juntos e vez por outra travavam batalhas de cócegas na cama. Faziam amor com boa dose de entusiasmo e era raro o dia em que deixavam de fazê-lo. Leonard mantinha seus pensamentos sob controle. Sentiam-se apaixonados. Quando saíam para caminhar, comparavam-se favoravelmente com outros casais jovens que viam na rua. Ao mesmo tempo, dava-lhes prazer pensar que se pareciam com eles, que todos faziam parte de um mesmo processo benigno e reconfortante. Todavia, ao contrário da maioria dos casais de namorados que eles viram um domingo à tarde nas margens do lago Tegeler, Leonard e Maria já viviam juntos e já haviam sofrido uma perda, a qual não mencionavam por não fazerem a menor idéia de como defini-la. Jamais conseguiriam recuperar o espírito de fevereiro e início de março, quando lhes parecera ser possível inventar suas próprias regras e florescer à parte das convenções mudas, poderosas, que mantêm homens e mulheres em seus respectivos lugares. Tinham vivido sem pensar no amanhã, numa esqualidez senhorial, nos extremos do prazer físico, felizes feito porcos no chiqueiro, para além de qualquer consideração quanto aos detalhes da vida doméstica e da higiene pessoal. Fora a traquinagem de Leonard — palavra que Maria usou uma noite ao ser referir de passagem ao episódio, e que significou seu perdão definitivo —, sua Unartigkeit, que pusera um ponto final naquilo tudo, obrigando-os a voltar para trás. Contentavam-se agora com uma trivialidade deleitosa. Tinham se isolado do resto do mundo e acabaram por infligir tormentos a si mesmos. Agora era a placidez do ir e voltar do trabalho, manter os apartamentos em ordem, ir a uma Trödelladen comprar mais uma cadeira para a sala de estar de Maria, andar de braços dados na rua e entrar na fila para assistir a E o vento levou... pela terceira vez. Dois acontecimentos marcaram o verão e o outono de 1955. Numa manhã de meados de julho, Leonard caminhava pelo túnel rumo à câmara de escuta, onde deveria realizar uma vistoria de rotina no equipamento. Nos últimos quinze metros, diante da porta antipessoal que fechava hermeticamente a câmara, encontrou o caminho bloqueado. Um sujeito recém-chegado ao armazém — americano, sem dúvida — supervisionava a remoção das tomadas elétricas das chapas de revestimento. O trabalho era executado por dois homens e não havia como se espremer para desviar deles por causa dos amplificadores. Leonard pigarreou e aguardou pacientemente. Depois que uma tomada foi retirada, os três se afastaram para lhe dar passagem. Foi o bom-dia de Leonard que instigou o novato a dizer em tom amistoso: “Que servicinho malfeito o de vocês, hein?”. Leonard seguiu em frente, entrou na câmara pressurizada e passou uma hora examinando os aparelhos e suas conexões. Como lhe fora solicitado, trocou o microfone instalado no teto do poço vertical, o que daria o alerta na eventualidade de uma invasão dos Vopos. Na volta, ao
passar pelos amplificadores, viu os homens usando furadeiras manuais para perfurar o concreto que havia sido injetado pelos buracos do revestimento durante a construção do túnel. Mais adiante notou outras seis tomadas que também haviam sido retiradas. Dessa vez, durante sua travessia ninguém lhe disse nada. De volta ao armazém, Leonard encontrou Glass na cantina. Aguardou que o homem sentado a seu lado se afastasse antes de perguntar o que estava acontecendo no túnel. “É culpa do seu amigo MacNamee. As contas dele estavam todas erradas. Quando ainda estávamos começando isto aqui, ele nos fez engolir umas porcarias de uns cálculos para mostrar que o ar-condicionado daria conta do calor liberado pelos amplificadores. Parece que errou feio. Trouxemos um especialista de Washington. Ele está medindo a temperatura do solo em diferentes níveis de profundidade.” “Qual o problema de a terra esquentar um pouco?”, indagou Leonard. A pergunta deixou Glass irritado. “Pelo amor de Deus! Aqueles amplificadores estão bem debaixo da estrada, bem debaixo da Schönefelder Chaussee. Quando chegar o outono, o calor vai derreter a primeira geada que cair, deixando um lindo quadradinho no chão. Ei, vocês aí, queremos mostrar uma coisa, venham ver o que estamos fazendo aqui embaixo!” Sobreveio um silêncio, depois Glass prosseguiu: “Não entendo por que deixamos vocês participarem disto. Tomamos o maior cuidado com tudo, mas vocês não levam as coisas a sério”. “Isso é bobagem”, disse Leonard. Glass não o ouviu. “Esse MacNamee é um palerma. Devia ficar em casa brincando de trenzinho. Sabe onde foi que ele fez os cálculos sobre a liberação de calor? No verso de um envelope. Um envelope! Nós teríamos formado três equipes independentes. Se não chegassem ao mesmo resultado, iríamos querer saber o porquê. Como é que o sujeito consegue raciocinar direito com uns dentes como aqueles?” “Ele é um homem importante”, redargüiu Leonard. “Trabalhou com navegação por sinal de rádio e com radares.” “Comete erros. É só o que importa. Devíamos ter feito esta coisa sozinhos. A cooperação gera equívocos, problemas de segurança, o escambau. Temos nossos próprios amplificadores. O que estamos fazendo com os de vocês? Deixamos vocês participarem disto por uma questão política, um toma-lá-dá-cá burro que a gente nunca vai saber para que serve.” Leonard enfureceu-se. Empurrou seu hambúrguer para o lado. “Estamos participando disto por uma questão de direito. Ninguém lutou tanto tempo contra Hitler como nós. Entramos na guerra desde o início. Éramos a última e a melhor chance que a Europa tinha. Demos tudo de nós, por isso temos o direito de participar de tudo, o que inclui a segurança da Europa. Se não são capazes de entender isso, é sinal que vocês estão do outro lado.” Glass levantou a mão. Desculpou-se rindo. “Ei, calma aí, não há nada de pessoal no que eu disse.” De fato, havia algo de pessoal. Leonard não conseguia parar de pensar no tempo que Glass passara com Maria e a maneira como ele havia se vangloriado de tê-la feito voltar para os seus braços. A própria Maria insistia em negar tal exortação. Dizia que havia mencionado a separação da forma mais vaga possível e que Glass se limitara a anotar a informação. Leonard continuava em dúvida, e a incerteza o exasperava. Glass disse: “Leonard, não me entenda mal. Quando digo ‘vocês’, estou me referindo ao seu governo. Fico contente que você esteja aqui. E o que você diz é verdade. Durante a guerra vocês
foram formidáveis, extraordinários. Foi seu grande momento. E, para mim, esta é que é a questão”. O americano colocou a mão no braço de Leonard. “Aquele foi o momento de vocês, este é o nosso. Quem mais vai mostrar aos russos qual é o lugar deles?” Leonard desviou o olhar. O segundo acontecimento teve lugar durante a Oktoberfest. Leonard e Maria foram ao Tiergarten no domingo e nas duas noites seguintes. Assistiram a um rodeio texano, visitaram todas as barracas, tomaram cerveja e observaram um leitão inteiro sendo assado num espeto. Um coral de crianças com lenços azuis no pescoço entoava canções tradicionais. Maria estremeceu quando as viu e disse que elas a faziam se lembrar da Juventude Hitlerista. Mas as canções eram tristes, realmente belas, pensou Leonard, e as crianças não se deixavam intimidar com as difíceis harmonias. Na quarta noite, preferiram ficar em casa. Era cansativo andar em meio à multidão após um dia de trabalho e eles já haviam gastado o dinheiro que tinham reservado para sair na semana seguinte. Nesse dia, coincidiu de Leonard ter de ficar no armazém uma hora a mais que o normal. Uma série de oito aparelhos da sala de gravações havia subitamente parado de funcionar. Tudo indicava que o problema estivesse nos circuitos elétricos. Ele e um dos americanos de alta patente precisaram de meia hora para localizar o defeito e de outra meia hora para repará-lo. Leonard chegou à Adalbertsrasse às sete e meia. Mal tinha começado a galgar o penúltimo lance de escadas quando sentiu algo de diferente no ar. O lugar estava mais quieto do que de costume. Era a atmosfera muda, cautelosa, que costuma suceder às explosões. Uma mulher limpava a escadaria com um esfregão e sentia-se um cheiro desagradável. No andar de baixo ao de Maria, um garotinho o viu subindo e correu para dentro de casa aos brados de: “Er kommt, er kommt!”. Leonard transpôs o último lance de escadas voando. A porta do apartamento de Maria estava entreaberta. Um tapetinho jazia torto junto à entrada. Na sala viam-se cacos de louça espalhados pelo chão. Encontrou Maria no quarto, sentada no colchão, no escuro. Estava de costas para ele, a cabeça entre as mãos. Quando Leonard acendeu a luz, ela emitiu um som de protesto e balançou a cabeça. Ele apagou a luz, sentou-se a seu lado e colocou as mãos em seus ombros. Pronunciou o nome dela e tentou virá-la de frente para si. Ela resistiu. Ele recostou-se de comprido no colchão para encará-la. Ela tapou o rosto com as mãos e tornou a lhe dar as costas. “Maria?”, disse ele novamente, puxando-a pelo pulso. Havia ranho na mão dela, e sangue também. Foi o que pôde ver graças à luz que vinha da sala. Ela permitiu que ele segurasse suas mãos. Estivera chorando, mas já havia parado. O olho esquerdo estava inchado e suas pálpebras fechadas. A face esquerda tinha uma textura flácida e começava a protuberar. No canto da boca via-se uma ferida, um talho de meio centímetro. A manga da blusa estava rasgada do punho ao ombro. Ele sempre soubera que teria de enfrentar isso um dia. Ela lhe falara sobre as visitas. Otto aparecia uma vez, às vezes duas, ao ano. Até então haviam sido gritos de ameaça, exigências de dinheiro e, na última ocasião, uma pancada na cabeça. Nada o havia preparado para isso. Otto batera na cara dela com o punho fechado e com toda a força; tinha dado um soco, depois outro e mais outro. Ao sair do quarto para ir buscar um pedaço de algodão e uma vasilha com água, ainda sob o impacto nauseabundo do choque, Leonard pensou que não sabia nada sobre as pessoas, não entendia como eram capazes de fazer certas coisas, nem o que as levava a fazê-lo. Ajoelhou-se diante de Maria e limpou primeiro o ferimento dos lábios. Ela fechou o olho são e murmurou: “Bitte, schau mich nicht an”. Por favor, não olhe para mim. Queria que ele lhe dissesse algo.
“Beruhige dich. Ich bin ja bei dir.” Estou aqui com você. Depois, lembrando-se de seu próprio comportamento meses antes, não conseguiu falar mais nada. Pressionou o algodão contra a maçã de seu rosto.
14.
Leonard foi passar o Natal em casa sozinho, não tendo conseguido persuadir Maria a acompanhá-lo. Ela ponderou que uma mulher mais velha e divorciada, uma alemã, com quem Leonard não havia sequer se comprometido oficialmente, não seria bem recebida pela mãe dele. Ele achou que ela estava sendo escrupulosa demais. Não lhe parecia, sinceramente, que seus pais vivessem segundo códigos tão rigorosos e restritivos. Depois de vinte e quatro horas em casa, percebeu que Maria tinha razão. Foi difícil. Seu quarto, com a cama de solteiro e o certificado emoldurado que o proclamava vencedor do prêmio de matemática do colégio, era um quarto de criança. Ele estava mudado, transformado, mas era impossível comunicar isso aos pais. Fitas retorcidas de papel crepom cruzavam a sala de estar, ramos de azevinho cingiam o espelho que ficava sobre o consolo da lareira. Ouviram seu relato entusiasmado na primeira noite que ele passou em casa. Leonard contou-lhes sobre Maria, sobre o trabalho dela, explicou como ela era, falou sobre os dois apartamentos, o dela e o dele, descreveu o Resi, o Hotel am Zoo, os lagos, comentou o estado de nervosismo e excitação em que vivia a cidade semidestruída. Fizeram um frango assado em sua homenagem e mais batatas assadas do que nos últimos tempos ele se sentia capaz de comer. Perguntas superficiais foram feitas, sua mãe querendo saber como ele se virava com a roupa suja, seu pai referindo-se a “essa moça com quem você anda saindo”. O nome de Maria suscitava uma hostilidade de que eles mal tinham consciência, como se, partindo do pressuposto de que nunca viriam a ter de se encontrar com ela, se sentissem autorizados a desconsiderá-la. Leonard evitava mencionar a idade e o estado civil dela. Quanto ao restante, os comentários que eles faziam tinham o efeito de minimizar as diferenças entre os dois lugares. Nada do que ele dizia despertava curiosidade, assombro ou repugnância, e em pouco tempo Berlim foi dissociada de qualquer estranheza e passou a ser apenas uma região afastada de Tottenham, confinada e conhecida, em si mesma interessante, mas não por muito tempo. Seus pais não sabiam que ele estava apaixonado. E Tottenham, e Londres inteira, mergulhava num torpor dominical. As pessoas afogavam-se na banalidade do dia-a-dia. Em sua rua, as duas fileiras paralelas de casas vitorianas geminadas eram o ponto final de toda e qualquer mudança. Nada de importante haveria de acontecer. Não havia tensão, não havia propósito. O que interessava aos vizinhos era a perspectiva de alugar ou possuir um aparelho de televisão. Antenas em forma de H brotavam dos telhados. Às sextasfeiras, ao cair da tarde, seus pais iam até o vizinho, duas casas adiante, para saborear um pouco de sua televisão, e estavam poupando em tudo o que podiam, tendo sensatamente optado por não fazer a compra a prestação. Já haviam escolhido o modelo, e sua mãe mostrara-lhe o canto da sala de estar onde um dia ficaria o aparelho. Os formidáveis esforços envidados para manter a Europa livre pareciam tão remotos quanto os canais de Marte. No bar freqüentado por seu pai, nenhum dos fregueses habituais ouvira falar do Pacto de Varsóvia, cuja ratificação causara tamanha agitação em Berlim. Leonard pagou uma rodada e, incitado por um dos amigos de seu pai, falou em tom levemente ufanista sobre os estragos causados pelo bombardeio, a montanha de dinheiro que os contrabandistas ganhavam, os seqüestros — homens sendo arrastados berrando e
esperneando para dentro de automóveis sedã, levados para o setor russo e nunca mais vistos. Uma situação nem um pouco invejável, concordaram os presentes, que voltaram a conversar sobre futebol. Leonard sentia saudades de Maria, e não eram muito menores as saudades que sentia do túnel. Durante quase oito meses, percorrera-o diariamente em toda a sua extensão, protegendo suas linhas contra a umidade. Aprendera a amar o cheiro de terra, água e aço, o silêncio profundo, abafado, distinto de qualquer silêncio que se pudesse experimentar na superfície. Agora que estava longe dava-se conta de como era ousado, extravagantemente divertido, surrupiar segredos bem debaixo dos pés dos soldados alemães-orientais. Sentia falta da perfeição da obra, da solenidade dos equipamentos de última geração, dos hábitos sigilosos e de todos os pequenos rituais que os acompanhavam. Pensava com nostalgia na fraternidade tranqüila da cantina, no objetivo comum e na competência de todos os que ali estavam, nas generosas porções de comida, que pareciam em consonância com o conjunto do empreendimento. Pelejava com o rádio da sala, tentando encontrar o tipo de música em que havia se viciado. “Rock around the clock” era tocada, mas já estava ultrapassada. Seu gosto se especializara. Queria Chuck Berry e Fats Domino. Precisava ouvir Little Richard cantando “Tutti frutti” ou Carl Perkins com sua “Blue suede shoes”. A música ressoava em sua cabeça sempre que se via sozinho, atormentando-o com tudo aquilo de que ele se encontrava distante. Retirou a tampa de trás do rádio e descobriu uma maneira de ampliar a potência dos circuitos do receptor. Em meio aos gemidos e trinados da interferência, localizou a Voz da América e teve a impressão de ouvir a voz de Russell. Não conseguiu explicar o motivo de sua excitação à mãe, que assistia desesperada ao desmantelamento parcial do Grandvox da família. Na rua, andava atento a eventuais vozes americanas, porém não as ouvia nunca. Viu alguém parecido com Glass saltar de um ônibus e ficou desapontado quando o sujeito se virou de frente para ele. Nem no auge de suas saudades Leonard seria capaz de se iludir com a idéia de que Glass fosse seu melhor amigo, mas ele era uma espécie de aliado seu, e Leonard sentia falta do tom quase rude da fala do americano, da intimidade forjada a marteladas, da ausência dos modificadores gramaticais e das hesitações que supostamente indicavam a circunspecção dos ingleses. Não havia uma só pessoa em Londres que se atreveria a pegar Leonard pelo cotovelo ou apertar-lhe o braço para expor um ponto de vista. Não havia ninguém, exceto Maria, que se importasse tanto com o que Leonard fazia ou dizia. Glass inclusive lhe dera um presente de Natal. Fora durante a festa na cantina, que girara em torno de uma gigantesca peça de carne e dezenas de garrafas de Sekt — oportuna contribuição, conforme anunciado, do próprio Herr Gehlen. Glass colocara uma caixinha embrulhada em papel de presente nas mãos de Leonard. Em seu interior, ele encontrou uma caneta esferográfica prateada. Já vira algumas dessas canetas por aí, mas nunca tinha usado uma. Glass disse: “Foi desenvolvida para os pilotos da aeronáutica. Em altitudes elevadas não dá para usar caneta-tinteiro. É uma das vantagens permanentes da guerra”. Quando Leonard abriu a boca para dizer obrigado, Glass colocou os braços em volta dele e o cingiu contra si. Nunca havia sido abraçado por um homem antes. Estavam todos bastante altos. Então Glass propôs um brinde: “Ao perdão”, e olhou para Leonard, que supôs que o americano estivesse se referindo à investigação a que submetera Maria, e tomou um grande trago do espumante. Russell dissera: “Estamos fazendo a Herr Gehlen a gentileza de beber do vinho dele. Isto é
que é perdão”. Sob a foto emoldurada dos formandos da Tottenham Grammar School, turma de 1948, Leonard sentou-se na beirada da cama e pôs-se a escrever uma carta para Maria com sua caneta nova. A tinta fluía graciosamente, como se um rolo em miniatura de tecido azul brilhante estivesse sendo insculpido no papel. O que ele tinha nas mãos era um fragmento da aparelhagem instalada no túnel, um fruto da guerra. Enviava uma carta por dia. Sentia prazer em escrever e, também, ao menos dessa vez, em compor. O tom dominante era o de uma ternura jocosa: Não vejo a hora de chupar os dedos dos teus pés e acariciar a tua clavícula. Controlava-se para não se queixar de Tottenham. Afinal, poderia vir a querer atraí-la para lá um dia. Nas primeiras quarenta e oito horas que passou em casa, a separação pareceu-lhe excruciante. Em Berlim ele sentia-se tão enamorado, tão dependente e, ao mesmo tempo, tão adulto. Agora a velha vida familiar o engolfava. De uma hora para outra era novamente um filho, não um amante. Era uma criança. Lá estava seu quarto de novo e sua mãe preocupando-se com o estado de suas meias. Na manhã do segundo dia, acordou de um pesadelo em que sua vida em Berlim parecera pertencer a um passado distante. Não há por que voltar para aquela cidade, ouviu alguém dizer, hoje em dia está tudo mudado por lá. Sentou-se na beirada da cama, abanando o suor, pensando numa maneira de conseguir que lhe enviassem um telegrama urgente chamando-o de volta ao armazém. No quarto dia já estava mais calmo. Refletia sobre as qualidades de Maria e cultivava a expectativa de reencontrá-la dali a pouco mais que uma semana. Desistira de tentar fazer os pais compreenderem como ela havia mudado sua vida. Ela era um segredo que ele carregava por onde andasse. A perspectiva de revê-la no aeroporto de Tempelhof tornava tudo tolerável. Foi durante esse período de desejo e espera confortáveis que decidiu que tinha de pedi-la em casamento. A agressão de Otto os tornara ainda mais próximos e servira para abrandar ainda mais o que havia de aventureiro em suas vidas, tornando o companheirismo mais saliente. Desde então, Maria não ficava mais sozinha no apartamento. Se combinavam de se encontrar lá após o trabalho, Leonard fazia questão de chegar antes. Durante sua estada na Inglaterra ela permaneceria alguns dias no apartamento da Platanenallee, depois iria passar o Natal em Pankow. Estavam como que de costas um para o outro, prontos para enfrentar o inimigo comum. Quando saíam, caminhavam sempre juntos, de braços dados, e em bares e restaurantes escolhiam lugares discretos, com uma boa visão da porta. Mesmo depois de o rosto de Maria ter cicatrizado e eles terem parado de falar nele, Otto ainda era uma presença constante. Havia ocasiões em que Leonard sentia raiva de Maria por ter se casado com ele. “O que vamos fazer?”, perguntava a ela. “Não podemos continuar eternamente andando por aí desse jeito.” O medo de Maria era atenuado pelo desprezo. “Ele é um covarde. Vai sair correndo quando vir você. E vai acabar morrendo de tanto beber. Quanto mais cedo, melhor. Por que acha que sempre dou dinheiro a ele?” Na realidade, as precauções tornaram-se um hábito, parte integrante da intimidade deles. E era aconchegante, essa causa comum. Leonard chegava a pensar que era bastante bom estar ao lado de uma mulher bonita que contava com ele para se proteger. Fazia planos vagos de melhorar sua forma física. Soube por Glass que tinha direito a utilizar as instalações do ginásio de esportes do Exército americano. Talvez fosse útil praticar levantamento de pesos, ou judô, embora o apartamento de Maria fosse apertado demais para que ele pudesse derrubar Otto no chão. Mas não estava acostumado a fazer exercícios, e todas as noites parecia-lhe mais sensato voltar para
casa. Tinha fantasias de confrontos que faziam seu coração disparar. Via-se a si mesmo em estilo cinematográfico, o sujeito sossegado e durão que dificilmente perde as estribeiras, mas que, uma vez provocado, age com violência diabólica. Desferia um golpe no plexo solar de Otto, com elegância certeira e contrita. Arrancava a faca de suas mãos e, no mesmo movimento, quebravalhe o braço com remorso enfastiado e um: “Eu avisei para não engrossar”. Havia também fantasias que evocavam o irresistível poder da linguagem. Levava Otto para um canto, talvez para uma Kneipe, e o persuadia com um bom senso afável, porém inflexível. Tinham uma conversa de homem para homem e Otto acabava por se retirar num estado de mansa aceitação e reconhecimento digno da posição de Leonard. Era capaz até de se tornar amigo deles, candidato a padrinho de um de seus filhos, e Leonard usaria certa influência recém-adquirida a fim de arrumar um emprego em alguma base militar para o ex-beberrão. Em outras seqüências, marcadas pela melancolia, Otto simplesmente desaparecia, tendo caído de um trem, ou morrido de tanto beber, ou encontrado a moça certa e se casado novamente. Todos esses devaneios eram impulsionados pela certeza do retorno de Otto e pela convicção de que, acontecesse o que acontecesse, o encontro seria imprevisível e desagradável. Vez por outra Leonard vira brigas eclodindo em botequins e bares de Londres e Berlim. A verdade é que seus braços e pernas ficavam bambos quando ele se via diante de atos de violência. Sempre se admirara da temeridade dos que se envolviam nessas lutas. Quanto mais forte batiam, mais ferozes eram os golpes que provocavam, mas não davam a impressão de se importar com isso. Um pontapé bem aplicado parecia valer o risco de passar o resto da vida numa cadeira de rodas ou com um olho só. Otto contava anos de experiência em arruaça. Não tinha nada contra bater no rosto de uma mulher com toda a força. O que pretenderia fazer com Leonard? O relato de Maria deixara claro que sua existência agora estava firmemente gravada na mente do alemão. Otto chegara ao apartamento vindo de uma tarde de bebedeira na Oktoberfest. Tinha ficado sem dinheiro e resolvera dar um pulo até lá para recolher alguns marcos e relembrar a ex-mulher de que ela havia arruinado sua vida e roubado tudo o que ele possuía. A visita teria se resumido à extorsão e aos impropérios, caso o cambaleante Otto não houvesse ido ao banheiro para se aliviar e visto ali o pincel de barba e a navalha de Leonard. Depois de dar sua mijada, saiu de lá soluçando e falando em traição. Passou pisando duro por Maria e entrou no quarto, onde viu uma camisa de Leonard dobrada em cima da cômoda. Tirou os travesseiros da cama e encontrou o pijama de Leonard. Os soluços transformaram-se em urros. Primeiro arrastou Maria pelo apartamento, acusando-a de devassa. Depois segurou-a pelo cabelo com uma mão e golpeou-a no rosto com a outra. Quando ia saindo, derrubou algumas xícaras no chão. Dois andares abaixo, vomitou na escadaria. Enquanto descia com seus passos vacilantes, ia bradando mais insultos na direção do apartamento de Maria, para a vizinhança toda escutar. Otto Eckdorf era berlinense. Havia sido criado no bairro de Wedding e era filho do dono de uma Eckkneipe das redondezas — uma das razões pelas quais os pais de Maria haviam se oposto tão acerbamente ao casamento. Maria era vaga quanto à participação de Otto na guerra. Supunha que ele havia sido convocado em 1939, quando tinha dezoito anos. Permanecera na infantaria por algum tempo, achava ela, e participara da marcha vitoriosa sobre Paris. Depois se ferira, não em combate, mas num acidente envolvendo um caminhão do Exército que capotara com um amigo embriagado ao volante. Após passar alguns meses num hospital no norte da França, havia sido
transferido para um regimento de sinaleiros. Estivera na Frente Oriental, mas sempre bem atrás das linhas de frente. Maria disse: “Quando ele quer que a pessoa saiba como ele é corajoso, fala de todas as batalhas que viu. Depois, quando está bêbado e quer que a pessoa perceba como ele é esperto, conta que conseguiu se manter longe dos combates fazendo com que o enviassem como telefonista para os quartéis de campanha”. Otto retornara a Berlim em 1946, quando conheceu Maria, que a essa altura trabalhava num centro de distribuição de alimentos, no setor britânico. A resposta que ela deu à pergunta de Leonard foi que havia se casado com ele porque na época tudo ruíra e o que as pessoas faziam não tinha efetivamente muita importância, porque havia se desentendido com os pais e porque Otto era bem-apanhado e parecia carinhoso. Naqueles dias as mulheres jovens e solteiras corriam perigo, e ela estava em busca de proteção. Nos dias cinzentos que se sucederam ao Natal, Leonard fez longas caminhadas sozinho, pensando na idéia de se casar com Maria. Num desses passeios, foi até o Finsbury Park, passou pela Holloway e seguiu rumo a Camden Town. Era importante, pensava, chegar a uma decisão racional, sem se deixar influenciar pela separação e pelo desejo. Precisava se concentrar no que quer que houvesse contra ela e refletir sobre a importância disso para ele. Otto tinha de ser levado em conta, óbvio. Havia a suspeita em relação a Glass, que ele não conseguia tirar da cabeça, mas que certamente se devia a seu próprio ciúme. Maria falara mais do que devia, isso era tudo. Ela era alemã, o que talvez fosse um obstáculo. Mas ele gostava de falar alemão, estava até começando a falar bem, graças ao estímulo dela, e preferia Berlim a qualquer outro lugar onde já havia estado. Seus pais talvez a desaprovassem. Seu pai, que havia sido ferido nos desembarques da Normandia, costumava dizer que ainda odiava os alemães. Depois de uma semana em casa, Leonard admitia que isso seria problema deles, não seu. Se seu pai ficara entre as dunas de areia com uma bala no calcanhar, Maria, como tantos outros civis, experimentara momentos de terror, curvando-se de medo sob os bombardeios noturnos. Com efeito, não havia nenhum obstáculo em seu caminho e, ao chegar ao canal do Regent’s Park e parar sobre a ponte, ele abandonou os rigorosos procedimentos científicos e permitiu que seus pensamentos fossem invadidos por tudo o que havia de encantador a respeito dela. Sentia-se apaixonado e estava prestes a se casar. Não poderia haver nada de mais simples, lógico e satisfatório. Antes de pedir Maria em casamento não teria a quem contar a decisão. Não havia ninguém que lhe pudesse servir de confidente. Quando fosse hora de dar a notícia, o único amigo que Leonard conseguia imaginar ficando verdadeiramente contente por ele, e que decerto não se absteria de o demonstrar, era Glass. Na superfície do canal viam-se perturbações minúsculas, os primeiros sinais de chuva. A idéia de percorrer a pé todo o caminho de volta, retraçando o périplo de suas meditações, deixou-o fatigado. Preferia tomar um ônibus na Camden High Street. Virou-se e saiu caminhando apressado naquela direção.
15.
As canções americanas passaram a assinalar o transcorrer das semanas e meses para Leonard e Maria. Em janeiro e fevereiro de 1956, suas favoritas eram “I put a spell on you”, de Screamin’ Jay Hawkins, e “Tutti frutti”. Foi esta última, entoada por Little Richard nos limites extremos do esforço e do prazer, que os fez dançar o jive. Depois veio “Long tall Sally”. Estavam familiarizados com os movimentos. Fazia tempo que os militares americanos mais jovens e suas namoradas dançavam dessa maneira no Resi. Até então, Leonard e Maria não aprovavam a dança. Os jivers ocupavam muito espaço e davam trombadas nas costas dos outros pares. Maria dizia que estava velha demais para aquele tipo de coisa e Leonard achava os passos afetados e infantis, tipicamente americanos. De modo que continuavam a enfrentar os ritmos acelerados e as valsas agarrados um ao outro. Mas isso não funcionava com Little Richard. Tendo sucumbido à música, não lhes restava alternativa senão aumentar o volume do rádio do apartamento da Platanenallee e ensaiar os passos — as inversões de lugar, os rodopios, os movimentos com que Leonard fazia Maria passar à sua frente, de um braço para o outro —, antes se certificando de que, no andar de baixo, os Blake não estavam em casa. Era um exercício divertidíssimo ter de adivinhar o pensamento um do outro, antecipar as intenções do parceiro. Nas primeiras tentativas houve várias colisões. Então um padrão veio à tona, sem que nenhum dos dois o tivesse conscientemente concebido, um produto não tanto do que faziam, mas de quem eram. Chegaram a um acordo tácito, segundo o qual cabia a Leonard conduzir e a Maria indicar, por meio de seus próprios movimentos, o modo como essa condução deveria se dar. Em pouco tempo, sentiam-se preparados para a pista de dança. Não se ouvia nada semelhante a “Long tall Sally” no Resi e nos outros salões de dança. As bandas tocavam “In the mood” e “Take the A train”, mas a essa altura os movimentos bastavam-se a si mesmos. Além da excitação, agradava a Leonard a idéia de que ele dançava de um jeito que seus pais e os amigos deles não conheciam, nem seriam capazes de imitar, de que gostava de músicas que eles detestariam, de que se sentia em casa numa cidade que eles nunca visitariam. Era uma pessoa livre. Em abril foi lançada uma canção a que todos se renderam e que marcou o princípio do fim dos dias de Leonard em Berlim. Não servia para dançar o jive. Só falava de solidão e de um desespero impossível de remediar. Sua melodia era toda sussurros, sua amargura comicamente exagerada. Tudo nela o extasiava, o andamento desconsolado do contrabaixo, a guitarra esganiçada, o tilintar esparso de um piano de bar e, acima de tudo, o conselho viril, másculo, com que a letra terminava: “Now if your baby leaves you, and you’ve got a tale to tell, just take a walk down Lonely Street...”. Por algum tempo, “Heartbreak Hotel” era tocada de hora em hora pela Voz da América. A autocomiseração da canção devia causar hilaridade. Em vez disso, fazia Leonard se sentir calejado, trágico e, em certo sentido, heróico. “Heartbreak Hotel” serviu de pano de fundo aos preparativos para a festa de noivado que Leonard e Maria resolveram dar no apartamento da Platanenallee. A canção ressoava na cabeça
de Leonard quando ele saiu para comprar bebidas e amendoins na loja do naafi.1 Na seção de presentes, cruzou com um jovem oficial que estava languidamente debruçado sobre um balcão de vidro, examinando os relógios ali expostos. Levou alguns segundos para reconhecer Lofting, o tenente que havia lhe dado o telefone de Glass em seu primeiro dia em Berlim. O outro também custou a identificá-lo. Quando o fez, mostrou-se bem mais amistoso que antes e pôs-se a tagarelar. Sem nenhum preâmbulo, contou que tinha finalmente encontrado um lugar amplo a céu aberto, convencera um empreiteiro civil a limpar e nivelar o terreno e, com a ajuda de alguém do gabinete do prefeito, conseguira que a área fosse gramada e preparada para ser utilizada como campo de críquete. “Rapaz, como essa grama cresce rápido! Arrumei uns guardas que ficam vinte e quatro horas vigiando para não deixar a garotada entrar. Você precisa aparecer um dia desses para dar uma olhada.” Eis um sujeito solitário, rotulou Leonard e, sem pensar duas vezes no assunto, comentou que iria ficar noivo de uma moça alemã e convidou-o para a festa. Bem que eles estavam precisando de mais convidados. À tardinha, antes da festa (Drinques, das 18h às 21h), Leonard foi levar o saco de lixo da cozinha até as lixeiras nos fundos do prédio, tarefa a que procedeu ora trauteando a melodia, ora cantarolando a letra de “Heartbreak Hotel”. Naquele dia, o elevador encontrava-se quebrado. Na volta, topou com o sr. Blake. Os dois não se falavam desde a cena ocorrida no patamar do apartamento de Leonard, no ano anterior. O tempo que se passara fora suficiente para apagar os efeitos do incidente, pois, quando Leonard acenou com a cabeça, o sr. Blake sorriu e o cumprimentou com um “olá”. Novamente sem parar para pensar e por estar se sentindo expansivo, Leonard disse: “O senhor e a sua esposa não gostariam de dar um pulo lá em casa para tomar um drinque mais tarde, depois das seis?”. Blake vasculhava o bolso do sobretudo à procura da chave. Encontrou-a e ficou por um instante olhando para ela. Depois disse: “Claro que sim. Obrigado”. Enquanto Leonard e Maria esperavam pelo primeiro convidado, “Heartbreak Hotel” tocava no rádio da sala. Havia amendoins servidos em pires e, em cima da mesa que fora encostada à parede, viam-se garrafas de cerveja e vinho, soda-limonada, Pimms, água tônica e um litro de gim, tudo comprado no duty-free do naafi. Não faltavam cinzeiros. Leonard quis servir nacos de abacaxi e pedaços de queijo cheddar espetados em palitos, mas Maria rira tanto dessa mistura extravagante que a sugestão fora deixada de lado. Eles circulavam pela sala de mãos dadas, vistoriando os preparativos, conscientes de que estavam prestes a dar início à existência pública de seu amor. Maria trajava um vestido branco de várias camadas, que farfalhava quando ela se movia, e escarpins azul-claros. Leonard envergava seu melhor terno e, toque de ousadia, uma gravata branca. “... he’s been so long in Lonely Street...” A campainha soou e Leonard foi atender. Era Russell, o locutor da Voz da América. Leonard não compreendeu por que o fato de o rádio estar sintonizado nessa estação o fez se sentir tão tolo. Russell não pareceu tê-lo notado. Havia pegado a mão de Maria e a segurava por mais tempo do que devia. Mas súbito estavam lá também as colegas de trabalho de Maria, Jenny e Charlotte, rindo e exibindo seus presentes. Russell abriu passagem e elas capturaram a futura noiva, envolvendo-a em abraços e exclamações típicas da gíria berlinense, e por fim se aboletaram com ela no sofá. Leonard preparou um gim-tônica para Russell e doses de Pimms com soda-limonada para as moças. Russell disse: “Não foi ela que mandou a mensagem pelo tubo?”. “Ela mesma.”
“É uma garota que sabe o que quer. Se importaria de me apresentar para as amigas dela?” Glass chegou, imediatamente seguido por Lofting, cuja atenção foi atraída pelo estrépito de risadas femininas que irrompeu no sofá. Leonard preparou os drinques e levou o locutor de rádio e o tenente para lá. Feitas as apresentações, Russell lançou-se todo lépido ao ataque, dizendo estar certo de já haver visto Jenny em algum lugar antes e elogiando-lhe a beleza do rosto. Num estilo mais próximo ao de Leonard, Lofting arrastou Charlotte para um bate-papo insosso e torturante. Quando ele disse: “Puxa, isso é fascinante. E quanto tempo você leva de manhã para ir a Spandau?”, ela e suas amigas tiveram um acesso de riso. Glass havia concordado em fazer um discurso. Leonard ficou tocado quando viu que o amigo havia se dado o trabalho de datilografá-lo em cartões. Pediu silêncio batendo com um sacarolhas na garrafa de gim. Glass principiou com um relato divertido, falando de Leonard com uma rosa atrás da orelha e da mensagem enviada pelo tubo pneumático. Disse ter esperanças de que um dia também viesse a ser salvo da condição de solteiro por uma abordagem tão dramática e por uma moça tão linda e maravilhosa como Maria. Russell bradou: “É isso aí, Bob!”. Maria calou-o com um “psiu”. Então Glass fez uma pausa a fim de indicar uma mudança de tom. Tomava fôlego para recomeçar quando a campainha soou. Eram os Blake. Enquanto todos aguardavam, Leonard abasteceu-os de drinques. A sra. Blake acomodou-se numa poltrona. Seu marido permaneceu de pé junto à porta, olhando com uma expressão vazia para Glass, que, com uma inclinação da barba, considerou a interrupção encerrada. Falou pausadamente. “Todos nós nesta sala — alemães, ingleses, americanos —, em nossos diferentes ramos de atividade, assumimos o compromisso de construir uma nova Berlim. Uma nova Alemanha. Uma nova Europa. Sei que isso lembra as palavras pomposas dos políticos, ainda que seja verdade. Sei muito bem que ao me vestir para ir para o trabalho, às sete horas de uma manhã de inverno, não é exatamente na construção de uma nova Europa que eu penso.” Ouviu-se um murmúrio de risadas. “Todos nós sabemos quais são as liberdades que desejamos e apreciamos, e também sabemos o que as ameaça. Todos nós sabemos que o lugar, o único lugar, a partir do qual é possível começar a fazer da Europa um continente livre e sem guerras fica bem aqui, dentro de nós, em nossos corações. Leonard e Maria vêm de dois países que há dez anos encontravam-se em guerra. Com seu noivado, eles estão, à sua maneira, levando a paz deles a seus países. Seu casamento, e todos os outros de mesma natureza, cria entre as nações um vínculo a cuja solidez nenhum tratado pode aspirar. Os casamentos que atravessam fronteiras contribuem para o melhor entendimento entre os países e torna-lhes um pouco mais custosa a decisão de entrar em guerra novamente.” Glass tirou os olhos de seus cartões e sorriu, subitamente renunciando ao tom grave: “É por isso que ando atrás de uma russa bem bonita para levar comigo quando eu voltar para Cedar Rapids. A Leonard e Maria!”. Todos ergueram seus copos e Russell, que tinha passado o braço em volta da cintura de Jenny, gritou: “Vamos lá, Leonard, agora é com você!”. A única vez que Leonard havia falado em público fora no colégio, quando, na qualidade de monitor da turma de formandos, tinha de se responsabilizar, de quinze em quinze dias, pela leitura de avisos durante a assembléia matinal. Agora, ao começar a falar, percebeu-se com uma respiração rápida e superficial demais. Só conseguia pronunciar três ou quatro palavras por vez. “Obrigado, Bob. No que me diz respeito, não sei se vou poder ajudar muito na reconstrução da
Europa. O máximo que eu sei fazer é pregar umas prateleiras no banheiro.” A piada caiu bem. Até Blake sorriu. Do outro lado da sala, os olhos de Maria reluziam em sua direção, ou será que estavam marejados de lágrimas também? Leonard enrubesceu. O sucesso o fez se sentir leve. Desejou ter outros dez gracejos para dizer. Concluiu: “Quanto a nós dois, tudo o que podemos prometer, a vocês e um ao outro, é sermos felizes. Muito obrigado por terem vindo”. Pipocaram aplausos e, novamente encorajado por Russell, Leonard atravessou a sala para beijar Maria. Russell deu um beijo em Jenny, e então todos se dedicaram a seus drinques. Blake aproximou-se para apertar a mão de Leonard e congratulá-lo. Inquiriu: “E esse americano barbudo. De onde você o conhece?”. Leonard hesitou. “Trabalhamos juntos.” “Não sabia que você trabalhava para os americanos.” “Ah, pois é. São esses projetos intersetoriais. Estamos expandindo a rede telefônica.” Blake fitou Leonard longamente. Foi com ele para um canto mais sossegado da sala. “Quero lhe dar um conselho. Esse sujeito, o nome dele é Glass, não é? Pois bem, ele trabalha para o Bill Harvey. Ao me dizer que trabalha com o Glass, você está me dizendo o que faz. Altglienicke. Operação Gold. Isso não é algo que eu precise saber. Você desrespeitou as normas de segurança.” Leonard teve vontade de dizer que o próprio Blake havia cometido uma transgressão ao sugerir que também fazia parte da comunidade de inteligência. Blake prosseguiu: “Não sei quem são as outras pessoas que estão aqui. O que eu sei é que, nesse aspecto, Berlim não passa de uma cidadezinha minúscula. Um vilarejo. Você não devia se deixar ver em público com o Glass. Fazer isso é se entregar. Aceite meu conselho: mantenha sua vida profissional e pessoal bem separadas uma da outra. Vou até ali desejar felicidades a sua noiva, depois eu e minha mulher vamos nos retirar”. Os Blake foram embora. Leonard ainda permaneceu um tempo com seu drinque, afastado dos demais. Parte dele, uma parte odiosa, pensou, queria ver se havia alguma coisa entre Maria e Glass. Não davam a menor atenção um ao outro. Pouco depois Glass também partiu. Lofting tomara alguns drinques e começava a fazer progressos com Charlotte. Jenny estava no colo de Russell. Os quatro haviam decidido jantar num restaurante, depois sairiam para dançar. Tentaram persuadir Leonard e Maria a acompanhá-los. Quando se convenceram de que não teriam sucesso, retiraram-se com beijos, abraços e adeusinhos gritados da escada. Havia copos abandonados por todo lado e era possível sentir a fumaça de cigarro pairando no ar. O apartamento se aquietara. Maria colocou os braços nus em volta do pescoço de Leonard. “Você falou muito bem. Não tinha me dito que era bom nisso.” Beijaram-se. Leonard disse: “Ainda vai levar muito tempo para você descobrir todas as coisas em que eu sou bom”. Discursara para uma multidão de oito pessoas. Sentia-se diferente, capaz de qualquer coisa. Vestiram seus casacos e saíram. A idéia era comer em Kreuzberg e passar a noite no apartamento da Adalbertstrasse, assim incluindo ambas as casas nos festejos. Maria deixara o quarto preparado, com lençóis limpos, garrafas abastecidas com velas novas e um pot-pourri servido em duas tigelas de sopa. Jantaram Rippenchen mit Erbsenpüree, costeleta de porco com purê de ervilha, num bar da Oranienstrasse do qual haviam se tornado fregueses habituais. O dono do bar sabia do noivado e
serviu-lhes doses de Sekt por conta da casa. O lugar que escolheram para se sentar era como um quarto, quase uma cama. Ficava num dos cantos mais reservados do bar, onde havia uma mesa de madeira escura toda manchada, com cinco centímetros de espessura, encravada entre bancos compridos e altos, bastante lisos graças aos numerosos traseiros que já tinham se sentado neles. Sobre a mesa havia uma toalha grossa de brocado, que caía pesadamente em seus colos. Por cima dela o garçom ainda estendeu uma toalha de linho branco engomada. O recanto era iluminado pela luz baça de uma lanterna de vidro vermelho, que pendia do teto baixo, sustentada por uma corrente pesada. O ar quente e úmido, com seu bafio de charutos brasileiros, café forte e carne assada, confinava-os ainda mais. Sentados ao redor da Stammtisch, a mesa dos fregueses regulares, viam alguns velhos bebendo cerveja e Korn, e mais perto de onde eles estavam havia uma partida de Skat em andamento. Um dos velhos interrompeu seu andar claudicante ao passar pela mesa de Leonard e Maria. Consultou o relógio de maneira teatral e disse: “Auf zur Ollen!”. Depois que o sujeito havia se ido, Maria explicou. Era um dito berlinense. “Hora de voltar para os braços da velha. Será que daqui a cinqüenta anos você também vai falar assim?” Ele levantou o copo. “À minha Olle.” Em breve haveria outra comemoração, sobre a qual ele não podia falar a Maria. Dali a três semanas o túnel completaria doze meses de funcionamento, contados, conforme havia sido acertado, a partir do dia da primeira interceptação. Também ficara combinado que era preciso organizar alguma coisa para não deixar a data passar em brancas nuvens, algo que não pusesse em risco a segurança, mas que nem por isso deixasse de ser festivo e simbólico. Uma comissão especial fora formada para cuidar do assunto. Glass escolhera a si mesmo para presidi-la. Os outros integrantes eram um sargento do Exército americano, um oficial de ligação alemão e Leonard. A fim de enfatizar a colaboração entre os três países, as contribuições deveriam refletir algo de suas tradições culturais. Leonard achou um pouco injusta a divisão de responsabilidades proposta por Glass, mas não falou nada. Os americanos cuidariam da comida, os alemães forneceriam a bebida e os britânicos providenciariam uma surpresa, uma atração para animar a festa. Com trinta libras para gastar, Leonard consultara os quadros de avisos da Associação Cristã de Moços e dos clubes do naafi e da toc H, em busca de um número que honrasse seu país. Havia a mulher de um cabo da Royal Army Ordnance Corps que lia folhas de chá. Havia um cão cantor, propriedade de um gerente do American Kennel Club, cujo anúncio falava em venda, não locação, e havia um grupo incompleto de danças folclóricas britânicas, formado a partir do clube de rúgbi da Royal Air Force. Havia uma das senhoras da Universal Aunt, que se oferecia para receber crianças e velhos senis em aeroportos ou estações ferroviárias, e havia um mágico “de primeira” que só fazia exibições para crianças com menos de cinco anos. Fora justamente na manhã do dia de sua festa de noivado que, tendo ido atrás de uma dica, Leonard entrara em contato com um sargento do Scots Greys, o qual, em troca de uma contribuição de trinta libras para o clube dos sargentos, comprometera-se a oferecer um tocador de gaita-de-foles trajado com o uniforme completo do regimento, saia xadrez, penacho, bolsa de couro e tudo mais. Isso e seu pequeno discurso, e a piada bem-sucedida, e as taças de Sekt, e o gim que as havia precedido, e a língua estrangeira que ele começava a dominar, e este Gaststätte onde se sentia tão à vontade e, acima de tudo, a linda noiva que naquele instante batia sua taça contra a dele, tudo isso fazia Leonard pensar que nunca havia verdadeiramente conhecido a si
próprio, ele era um sujeito muito mais interessante e — sim, por que não? — mais refinado do que jamais ousara suspeitar. Maria ondulara o cabelo para a comemoração. Mechas habilmente desalinhadas pendiam sobre a fronte alta e shakespeariana, e pouco abaixo do cocuruto via-se uma nova fivela branca, o toque infantil que ela relutava em abandonar. Ela o fitava com uma expressão de enlevo paciente, a mesma mescla de autoridade e abandono que nos primeiros dias o obrigara a se distrair pensando em circuitos e cálculos aritméticos. Estava usando o anel de prata que eles haviam comprado de um árabe na Ku’damm. A módica quantia que tinham pago por ele era uma celebração de sua liberdade. Diante das vitrines das grandes joalherias, jovens casais admiravam anéis de noivado que custavam mais do que três meses de salário. Graças à pertinácia com que Maria pechinchara — enquanto Leonard, constrangido demais para ouvir aquilo, aguardava a alguns passos de distância —, conseguiram comprar o deles por menos de cinco marcos. Só o jantar os separava do apartamento de Maria, o quarto arrumado e a consumação do noivado. Queriam falar sobre sexo, de modo que Russell passou a ser o tema da conversa. Leonard forcejou por assumir o tom de quem se sente obrigado a aconselhar prudência. Não era algo que estivesse muito de acordo com seu estado de ânimo no momento, mas a força do hábito mostrou-se poderosa. Queria que Maria prevenisse sua amiga Jenny. Russell era um sujeito que não brincava em serviço, um velhaco, como diria Glass, alguém que certa vez alardeara ter papado mais de cento e cinqüenta garotas em seus quatro anos de Berlim. Disse em alemão: “Além de provavelmente estar com gonorréia, den Tripper” — aprendera o termo havia pouco tempo, num cartaz que vira num banheiro público —, “duvido que ele tenha qualquer intenção séria com a Jenny. Ela precisa saber disso”. Maria levara a mão à boca e ria da palavra Tripper. “Sei nicht doof! Você é muito... schüchtern. Como é que se fala isso em inglês?” “Pudico, acho”, Leonard viu-se forçado a dizer. “A Jenny sabe cuidar de si mesma. Sabe qual foi o comentário que ela fez quando o Russell entrou na sala? Ela disse: ‘Este eu quero para mim. Meu pagamento só sai no fim da semana que vem e estou com vontade de ir a um restaurante. Depois quero sair para dançar. E que queixo bonito ele tem’, ela disse, ‘parece o Super-Homem’. E então foi à luta, e esse tal de Russell pensa que fez tudo sozinho.” Leonard apoiou a faca e o garfo no prato, e pôs-se a torcer as mãos, simulando angústia. “Meu Deus! Como é que eu posso ser tão ignorante?” “Não é questão de ignorância. É que você é inocente. E agora vai se casar com a única mulher que conheceu na vida. Que maravilha! Os homens é que deviam se casar virgens, não as mulheres. Nós gostamos de vocês fresquinhos...” Leonard empurrou o prato para o lado. Era impossível comer e ser seduzido ao mesmo tempo. “Nós gostamos de vocês fresquinhos para ensiná-los como devem fazer para nos dar prazer.” “Nós?”, indagou Leonard. “Quer dizer que há outras além de você?” “Não, só eu. E trate de não pensar o contrário.” “Eu quero você”, disse Leonard, que gesticulou para o garçom. Não se tratava de mero exagero convencional. Pensou que se não se deitasse com ela logo, talvez acabasse vomitando, pois sentia uma coisa fria pressionando-lhe para cima o estômago e o purê de ervilha que jazia ali.
Ela ergueu a taça. Nunca a vira tão linda. “À inocência.” “À inocência. E à cooperação anglo-germânica.” “Que discurso horrível!”, disse Maria, embora sua expressão o fizesse crer que ela não estava falando sério. “Por acaso ele pensa que eu sou o Terceiro Reich? É com isso que ele acha que você está se casando? Será que ele realmente acredita que as pessoas representam seus países? Até o major fala coisas mais interessantes nos discursos que ele faz em nossos jantares de Natal.” Contudo, quando já haviam pago a conta e vestido os casacos e caminhavam em direção à Adalbertstrasse, ela retomou o assunto em tom mais sério. “Não confio naquele sujeito. Não fui com a cara dele quando me fez aquela porção de perguntas. Tem uma cabeça simplista demais e está sempre pensando coisas. Esses é que são perigosos. Acham que se a pessoa não adora os Estados Unidos, é espiã dos russos. É gente como ele que quer começar outra guerra.” Leonard ficou contente de a ouvir dizer que não gostava de Glass e não queria dar início a uma discussão àquela altura dos acontecimentos. Não obstante, afirmou: “Ele se leva muito a sério, mas no fundo não é má pessoa. Desde que cheguei a Berlim, tem sido um bom amigo para mim”. Maria o puxou mais para perto de si. “Olha aí a inocência de novo. Você gosta de qualquer um que te trate bem. Se o Hitler aparecesse aqui e te pagasse um drinque, você era capaz de dizer que afinal de contas ele é um bom sujeito!” “E se ele dissesse que é virgem, você se apaixonaria por ele.” As gargalhadas deles ressoaram na rua vazia. Enquanto subiam as escadas do número 84, sua hilaridade ecoava na madeira desnuda. No quarto andar alguém abriu uma fresta na porta, depois a fechou com um estrondo. Continuaram fazendo quase o mesmo tanto de barulho pelo resto do caminho, um falando para o outro ficar quieto, rindo sem parar. A fim de que o apartamento estivesse preparado para recebê-los, Maria havia deixado as luzes todas acesas. O aquecedor elétrico estava no quarto, ligado. Enquanto ela ia ao banheiro, Leonard abriu o vinho que os aguardava, pronto para ser servido. Sentia um cheiro no ar, mas não sabia dizer o que era. Talvez fosse cebola, e mais outra coisa. Havia ali uma associação que ele não conseguia estabelecer. Encheu os copos e ligou o rádio. Pensou que agora lhe cairia bem mais uma dose de “Heartbreak Hotel”, mas só encontrou música clássica de qualidade duvidosa e jazz, duas coisas que ele detestava. Esqueceu-se de mencionar o cheiro quando Maria saiu do banheiro. Levaram os copos para o quarto, cada um acendeu um cigarro e ficaram calmamente conversando sobre o êxito da festa. A fumaça sobrepôs-se ao cheiro — que também se fazia presente naquele cômodo — e à fragrância do pot-pourri. Estavam retornando à urgência que haviam sentido durante o jantar e, enquanto falavam, foram se despindo e se tocando e se beijando. O acúmulo de excitação e a familiaridade irrestrita tornavam tudo tão fácil. Quando ficaram nus, suas vozes já haviam se reduzido a sussurros. De fora do quarto vinha o ronco cada vez mais amortecido de uma cidade que se preparava para dormir. Enfiaram-se debaixo das cobertas, que estavam leves de novo, agora que a primavera havia chegado. Por cerca de cinco minutos deliciaram-se em adiar o prazer, abraçando-se demoradamente. “Noivos”, sussurrou Maria. “Verlobt, verlobt.” Na própria palavra havia uma espécie de convite, de incitação. Começaram indolentemente. Ela estava debaixo dele. Ele comprimia o lado direito do rosto contra o dela. Seu campo de visão restringia-se ao travesseiro e à orelha de Maria, o dela avançava por cima de seu ombro, passava pelas ondulações e contrações dos pequenos músculos de suas costas e chegava à
penumbra que envolvia o quarto para além da luminosidade irradiada pela vela. Ele fechou os olhos e viu uma extensão de águas planas. Podia ser o Wannsee no verão. A cada estocada era puxado para baixo, perfazendo a suave curva de seu mergulho, cada vez mais para a frente e mais fundo, até a superfície se converter numa lâmina de prata líquida muito acima de sua cabeça. Quando Maria se mexeu e murmurou algo, suas palavras choveram feito gotículas de mercúrio, mas caíram como penas. Ele grunhiu. Quando ela as pronunciou novamente em seu ouvido, ele abriu os olhos, conquanto ainda não conseguisse escutar, e ergueu um pouco o corpo, apoiandose no cotovelo. Foi ignorância ou inocência que o fez pensar que as batidas cada vez mais aceleradas do coração dela contra seu braço eram sinal de excitação, ou que os olhos extremamente arregalados, as minúsculas pérolas de umidade que despontavam em seu lábio superior, a dificuldade que ela enfrentava para mover a língua e repetir as palavras, tudo isso era para ele? Abaixou a cabeça, aproximando-a da dela. O que ela dizia vinha emoldurado pelo sussurro mais discreto que se possa imaginar. Seus lábios roçavam-lhe a orelha, as sílabas chegavam-lhe envoltas em peliça. Ele abanou a cabeça. Escutou sua língua se desgrudar e tentar novamente. O que finalmente a ouviu dizer foi: “Tem alguém dentro do guarda-roupa”. Então seu coração se pôs a correr como o dela. Suas caixas torácicas tocavam-se e eles podiam sentir, mas não ouvir, o estrépito arrítmico, tal qual um tropel de cavalos. Apesar dessa dispersão, ele aguçou os ouvidos. Havia um carro se afastando, havia alguma coisa no encanamento e por trás disso nada, nada a não ser o silêncio e a indissociável escuridão e o rangido do silêncio apressadamente auscultado. Repassou tudo de novo, esquadrinhando as freqüências e observando o semblante dela, à espreita de algum sinal. Ali, porém, os músculos já estavam todos retesados e ela beliscava-lhe o braço. Ela continuava a ouvir, estava atraindo sua atenção para aquilo, obrigando-o a atentar para a faixa de silêncio, a estreita seção onde se achava aquela coisa. Dentro dela, ele havia encolhido até virar um nada. Eram pessoas distintas agora. No ponto em que se tocavam, seus ventres estavam úmidos. Estaria ela bêbada, teria enlouquecido? Qualquer das duas alternativas teria sido preferível. Ele soergueu a cabeça, esforçando-se ao máximo, então ouviu, e soube que estivera ouvindo o tempo todo. Havia procurado por algo diferente: sons, timbres, a fricção de objetos sólidos. Porém aquilo não passava de ar, ar entrando e saindo, uma respiração surda num espaço fechado. Leonard pôs-se de gatinhas e virou-se. O guarda-roupa ficava junto à porta, perto do interruptor. Encontrou os óculos no chão. Nenhum deles fez nada para clarear a grande massa escura. Seu instinto dizia-lhe que não conseguiria fazer coisa alguma, não seria capaz de enfrentar ou submeter-se a nada, enquanto não cobrisse sua nudez. Achou a cueca e vestiu-a. Maria ergueu o tronco e sentou. Mantinha as mãos em concha tapando o nariz e a boca. À cabeça de Leonard assomou o pensamento, fruto talvez de um hábito criado ao longo do tempo passado no armazém, de que eles não deviam fazer nada que indicasse estarem a par daquela presença. Simular uma conversa seria impossível. Por isso permaneceu de cueca no escuro e, através da garganta constringida, começou a trautear sua canção favorita, enquanto, apavorado, tentava pensar no que faria a seguir.
1. Navy, Army and Air Force Institutes, órgão responsável pela administração de restaurantes, cantinas, lojas e outros estabelecimentos que atendem os integrantes das Forças Armadas britânicas em locais onde o Reino Unido mantém bases militares. (N. T.)
16.
Maria se esticou para pegar a saia e a blusa. O movimento fez a chama da vela estremecer, mas não chegou a apagá-la. Leonard apanhou a calça que estava em cima de uma cadeira. Havia acelerado o andamento de seu trauteio, transformando-o numa animada melodia de ritmos pontuados. Agora só pensava em se vestir. Tendo posto a calça, sentiu a nudez do peito pinicando na escuridão. Depois de colocar a camisa, eram os pés que lhe pareciam vulneráveis. Encontrou os sapatos, mas não as meias. Enquanto amarrava os cadarços, silenciou. E lá estavam eles, um de cada lado da cama, os noivos. O ruge-ruge dos tecidos e a canção de Leonard haviam obscurecido a respiração. Então a ouviram novamente. Era tênue, porém profunda e regular. A Leonard ela sugeria intenções inabaláveis. O corpo de Maria bloqueava a luz da vela e projetava uma sombra gigantesca na direção da porta e do guarda-roupa. Olhou para ele. Seus olhos impeliam-no para a porta. Ele acedeu prontamente, tentando pisar nas tábuas do assoalho sem fazer barulho. Foram necessários quatro passos. O interruptor ficava bem em frente ao guarda-roupa. Era impossível não perceber a presença, não sentir nos dedos e no couro cabeludo o campo de força de uma presença humana. Estavam a ponto de se trair, dando a saber que sabiam. Os nós de seus dedos deslizaram pela superfície polida ao pressionar o interruptor. Maria apareceu atrás dele, sentia a mão dela em sua cintura. A explosão de luz certamente superou os sessenta watts. Leonard piscou os olhos agredidos pela claridade. Tinha as mãos soerguidas, prontas para qualquer eventualidade. As portas do guarda-roupa iam ser escancaradas agora. Agora. Mas não aconteceu nada. O guarda-roupa tinha duas portas. Uma dava para o gaveteiro e estava firmemente fechada. A outra, a que abria para o compartimento que servia para pendurar casacos e onde um homem teria espaço suficiente para ficar de pé, encontrava-se ligeiramente entreaberta. A tramela não estava engatada. Era uma argola grande de latão que girava uma haste gasta. Leonard esticou a mão em sua direção. A respiração era audível. Não fora engano. Não se tratava de algo de que dali a dois minutos estariam rindo. Era uma respiração, a respiração de um ser humano. Segurou a argola entre o indicador e o polegar e ergueu-a sem fazer o menor ruído. Sem largar dela, deu um passo cauteloso para trás. Acontecesse o que acontecesse, queria dispor de espaço. Quanto maior a distância, mais tempo teria. Esses pensamentos geométricos vinhamlhe em pacotinhos compactos e bem embrulhados. Tempo de fazer o quê? Também a pergunta se refugiava num embrulho imperscrutável. Pegou com mais força na argola e deu um puxão, abrindo a porta de uma só vez. Não havia nada. Só a negrura de um casaco de sarja e um cheiro, um miasma, que o movimento da porta lançou para fora, de álcool e picles. Então o rosto, o homem, apareceu ali embaixo, sentado com os joelhos flexionados junto à porta, adormecido. Um sono de bêbado. Cerveja, Korn e cebola, ou Sauerkraut. A boca estava aberta. Ao longo do lábio inferior havia um vestígio de espuma esbranquiçada, interrompido no meio, em ângulos retos, por uma grande fenda preta de sangue coagulado. Um herpes ou uma pancada desferida por outro bêbado. Recuaram, esquivando-se do fluxo mais denso do fedor adocicado.
Maria sussurrou: “Como foi que ele entrou?”. E ela mesma respondeu: “Talvez tenha pegado uma chave reserva. Na última vez em que esteve aqui”. Ficaram olhando para ele. A sensação de perigo imediato estava passando. O medo começava a ser substituído pelo asco e pela indignação ante o lar violado. Isso não parecia melhorar a situação. Não era assim que Leonard contara se defrontar com o inimigo. Tinha a oportunidade de avaliá-lo. A cabeça era pequena, os cabelos começavam a rarear no alto e exibiam aquele tom arenoso, manchado de tabaco, quase esverdeado junto às raízes, que ele havia notado com freqüência andando por Berlim. O nariz era grande e parecia frágil. Em suas laterais viam-se veias rompidas sob a pele firme e brilhosa. Só as mãos davam a impressão de força: sanguíneas, ossudas e grandes nos nós dos dedos e nas juntas. Assim como a cabeça, os ombros eram pequenos. Era difícil dizer ao certo com ele curvado daquela forma, mas Leonard começava a achar que estava diante de um tampinha, um tampinha briguento. A ameaça que ele representava, a maneira como tinha batido em Maria o haviam tornado maior do que ele de fato era. O Otto que Leonard tinha na cabeça era um soldado durão, castigado pelos anos de Exército, um sobrevivente da guerra em que ele não tivera idade suficiente para lutar. Maria empurrou a porta do guarda-roupa de volta à posição anterior. Apagaram a luz do quarto e foram para a sala. Estavam agitados demais para sentar. A voz dela rangia com uma amargura que ele jamais ouvira antes. “Ele está em cima dos meus vestidos. Vai acabar mijando neles.” A possibilidade não havia ocorrido a Leonard, mas, agora que ela a havia mencionado, parecia ser o problema mais urgente. Como fariam para evitar essa ainda mais ultrajante violação? Tirando-o lá de dentro, carregando-o até o banheiro? Leonard disse: “Como vamos nos livrar dele? Que tal chamar a polícia?”. Teve uma visão rápida e feliz de dois Polizisten saindo com Otto pela porta da frente e o resto da noite sendo reiniciado após um drinque tranqüilizador e umas boas risadas. Porém Maria balançou a cabeça. “Eles o conhecem, até pagam cervejas para ele. Não virão.” Estava perturbada. Resmungou alguma outra coisa em alemão e virou de costas, mudou de idéia e tornou a encará-lo. Ia falar, mas desistiu. Leonard permanecia apegado à possibilidade de resgatar a comemoração. Tratava-se simplesmente de se livrar de um bêbado. “Eu poderia carregá-lo para fora, arrastá-lo até lá embaixo e deixá-lo na calçada. Aposto que ele não iria nem abrir os olhos...” A perturbação de Maria começava a assumir um aspecto encolerizado. “O que é que ele estava fazendo no meu quarto, no nosso quarto?”, interpelou, como se Leonard o houvesse colocado lá. “Por que você não se faz essa pergunta? Por que será que ele foi se esconder no armário? Vamos, fale, me diga o que acha disso.” “Não sei”, tornou Leonard. “Isso agora não importa. Só quero dar um jeito de tirá-lo daqui...” “Não importa! Você não quer é pensar no assunto.” Sentou-se de supetão numa das modestas cadeiras da sala. Estava ao lado da pilha de sapatos amontoados em volta da fôrma de sapateiro. Pegou um par e o calçou. Leonard compreendeu que estavam prestes a ter uma briga. Era a noite do noivado deles. Ele não tinha culpa nenhuma na história e estavam brigando. Ou pelo menos ela estava. “A mim importa. Fui casada com esse porco. A mim importa se enquanto faço amor com você esse porco, esse monte de merda humana, está escondido no armário. Conheço esse canalha. Será que você entende isso?”
“Maria...” Desta vez ela ergueu a voz. “Conheço bem esse canalha!” Tentava acender um cigarro, mas estava se atrapalhando toda. Leonard também queria um. Disse em tom apaziguador: “Pare com isso, Maria...”. Ela finalmente conseguiu acender o seu e deu uma tragada. Não lhe serviu de nada, pois continuava quase aos berros. “Não fale assim comigo. Não quero que tente me acalmar. E você, por que é que está tão tranqüilo? Por que não está furioso? Tem um homem te espionando em seu próprio quarto. Você devia estar arrebentando os móveis. Em vez disso o que faz? Coça a cabeça e diz com toda a delicadeza do mundo que a gente devia chamar a polícia!” Leonard achava que tudo o que ela estava dizendo era correto. Ele não soubera como reagir, nem sequer pensara nisso. Sabia tão pouco sobre essas coisas. Ela era mais velha que ele, havia sido casada. Era daquele jeito que a pessoa ficava quando encontrava alguém escondido no quarto. Ao mesmo tempo, suas palavras o irritavam. Ela o estava acusando de não agir como homem. A essa altura ele havia se apoderado do maço de cigarros. Tirou um. Ela continuava a lhe dirigir invectivas. Metade delas em alemão. Segurava o isqueiro no punho fechado e mal percebeu quando ele o tirou de sua mão. “Você é que devia estar gritando comigo”, disse ela. “Ele é meu marido, não é? Isso não te deixa nem um pouquinho zangado?” Assim também era demais. Ele havia enchido os pulmões, então expeliu a fumaça com um berro. “Cale a boca! Pelo amor de Deus, feche essa matraca por um minuto!” Ela ficou imediatamente em silêncio. Ambos ficaram. Fumaram seus cigarros. Ela permaneceu sentada na cadeira. Ele se afastou o máximo que era possível se afastar naquela sala minúscula. Pouco depois ela olhou para ele com um sorriso de desculpas. Ele não alterou o semblante. Queria que ficasse um pouco bravo com ela? Pois bem, por um minuto ou dois ficaria. Maria se entreteve algum tempo apagando o cigarro e, ao falar, a princípio não tirou os olhos do que estava fazendo. “Eu sei por que o Otto está lá dentro. Sei muito bem o que ele quer. Preferia não saber, odeio saber. Acontece que...” Ao recomeçar, havia mais vivacidade em seu tom de voz. Ela tinha uma tese. “Quando o Otto começa a se relacionar com alguém, ele é um doce de pessoa. Isso antes de ter virado um beberrão, sete anos atrás. No início ele é um doce. Inventa mil maneiras de agradar. Foi assim quando me casei com ele. Depois, aos poucos descobri que essa gentileza toda é uma forma de possessão. Ele é uma pessoa possessiva. Dizia que eu ficava o tempo todo olhando para outros homens ou cismava que eles estavam olhando para mim. Tinha ciúme e começou a me bater e a inventar coisas, histórias malucas sobre mim e outros homens, gente que ele conhecia ou que via na rua, tanto fazia. Sempre cismava que havia alguma coisa. Achava que metade de Berlim já tinha me levado para a cama e que a outra metade só estava esperando uma chance. Foi então que começou a beber para valer. Só agora, depois de tanto tempo, é que estou percebendo qual era o problema.” Esticou o braço para pegar outro cigarro, mas um arrepio a fez mudar de idéia. “Essa coisa de eu dormir com outro homem, ele queria que acontecesse. Ficava furioso com a idéia, mas queria que acontecesse. Desejava me ver na cama com outro homem, ou ansiava falar sobre isso, ou queria que eu falasse. Era algo que o excitava.” Leonard disse: “Mas esse sujeito é um... um pervertido”. Jamais pronunciara a palavra antes. Sentiu satisfação ao fazê-lo. “Exatamente. Ele soube sobre você. Foi quando bateu em mim. Saiu daqui pensando nisso e
não conseguiu mais tirar esse negócio da cabeça... Era o que ele sempre tinha sonhado e dessa vez era para valer. Então se pôs a matutar e a beber, o tempo todo com uma chave no bolso que arrumou não sei onde. Hoje deve ter bebido mais que de costume, veio para cá e ficou esperando...” Maria começou a chorar. Leonard atravessou a sala e colocou a mão em seu ombro. “Ficou esperando, mas nós demoramos e ele acabou pegando no sono. Talvez a idéia dele fosse sair de lá quando estivéssemos... Para nos pegar em flagrante e me acusar de alguma coisa. Ele ainda pensa que eu sou propriedade dele, acha que vou me sentir culpada...” Estava chorando demais para falar. Apalpou a saia em busca de um lenço. Leonard ofereceulhe o grande lenço branco que trazia no bolso da calça. Depois de assoar o nariz, ela respirou profundamente. Leonard começou a falar, mas ela o atropelou. “Eu odeio esse homem, odeio saber essas coisas a seu respeito.” Então ele disse o que estivera prestes a dizer. “Vou dar uma olhada.” Foi até o quarto e acendeu a luz. Para abrir o guarda-roupa teve de fechar a porta do quarto atrás de si. Fitou o voyeur. A posição de Otto permanecia inalterada. Maria acercou-se da porta do quarto e o chamou. Ele abriu uma fresta de alguns centímetros. “Está tudo bem”, disse. “Estou só dando uma espiada nele.” Continuou a mirá-lo. O fato é que Maria havia escolhido esse homem para marido. E era nisto que sua escolha havia dado. Por mais que dissesse que o odiava, ela o escolhera. Como também escolhera a Leonard. O mesmo gosto em ação. Sentira-se atraída por Otto, assim como por ele, ambos compartilhavam isso, havia algo de comum em suas personalidades, aparências, destinos. Agora, sim, estava bravo com ela. Com suas escolhas, Maria o ligara a esse homem que agora ela dizia repudiar. Queria fazê-lo acreditar que fora uma fatalidade, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Acontece que se esse voyeur estava no quarto deles, escondido no guarda-roupa, bêbado, dormindo, prestes a mijar em suas roupas, isso era conseqüência das escolhas que ela havia feito. Sim, agora estava realmente furioso. Otto era responsabilidade dela, culpa dela, coisa dela. E ela ainda tinha a desfaçatez de se zangar com ele, Leonard. Apagou a luz e voltou para a sala. Teve vontade de ir embora. Maria estava fumando. Dirigiulhe um sorriso nervoso. “Desculpe, eu não devia ter gritado.” Leonard apanhou o maço de cigarros. Só restavam três. Quando o arremessou de volta, o maço deslizou sobre a mesa e acabou caindo no chão, perto dos sapatos. “Não fique bravo comigo”, disse ela. “Pensei que era isso que você queria.” Ela ergueu os olhos, surpresa. “Você está aborrecido. Venha, sente-se aqui. Me explique por que foi que se aborreceu.” “Não estou com vontade de sentar.” Era sua vez de fazer uma cena, e estava gostando disso. “Seu casamento com o Otto continua de pé. No quarto. É por isso que estou aborrecido. Ou falamos sobre o que vamos fazer para nos livrar dele, ou é melhor eu voltar para o meu apartamento. Aí vocês podem seguir em frente.” “Seguir em frente?” Seu sotaque deu à familiaridade da frase uma cadência estranha. O tom intimidativo que ela tencionara usar não estava lá. “O que quer dizer com isso?” Irritou-o que ela reagisse com raiva em vez de deixá-lo fazer sua cena. Permitira que ela
fizesse a sua. “O que eu quero dizer é que se não está disposta a me ajudar a tirá-lo daqui, pode passar a noite com ele. Talvez queiram conversar sobre os velhos tempos, terminar de beber o vinho, sei lá. Eu estou fora.” Maria levou a mão à bela e alta testa, olhou para o outro lado da sala e falou para uma testemunha imaginária. “Só me faltava essa. Agora deu para ter ciúme.” Virou-se para Leonard. “Você também? Igualzinho ao Otto? Então vai me deixar aqui sozinha com esse canalha? Quer ir para casa e ficar pensando em mim e nele, vai ver pretende até se deitar na cama para pensar em nós e...” Leonard ficou verdadeiramente chocado. Não sabia que ela era capaz de falar dessa maneira, não imaginava que as mulheres pudessem falar assim. “Que absurdo! Ainda há pouco eu disse que o melhor que tínhamos a fazer era arrastá-lo até a rua e largá-lo lá. Mas você preferiu continuar aí sentada, discorrendo sobre aspectos adoráveis do caráter dele, chorando no meu lenço.” Ela fez uma bola com o lenço e o atirou a seus pés. “Tome. Isto fede!” Ele não o pegou. Ambos abriram a boca para falar, mas ela foi mais rápida. “Se quer jogá-lo na rua, por que não faz isso? Vamos! Por que não faz alguma coisa? Por que é que fica aí parado esperando que eu lhe diga o que fazer? Quer levá-lo embora, pois leve-o, você é homem, ponhao daqui para fora!” Sua masculinidade de novo. Leonard atravessou a sala e a agarrou pela blusa. Um botão saltou. Aproximou o rosto do dela e esbravejou: “Porque ele é seu. Foi você que o escolheu, era seu marido, tem a chave da sua casa, é sua responsabilidade”. Cerrara o punho da mão livre. Ela estava assustada. Deixara cair o cigarro no colo. Estava queimando, mas ele não se importava, não dava a mínima. Tornou a vociferar: “Sua vontade é esperar aí sentada enquanto eu limpo a imundície que você fez com o seu passado...”. Ela devolveu os gritos na cara dele: “É isso mesmo! Já tive homens que berravam comigo, batiam em mim, tentavam me estuprar. Agora eu quero um que cuide de mim. Pensei que esse homem fosse você. Achei que seria capaz de fazer isso por mim. Mas não, só quer saber de inventar cenas de ciúme, berrar, bater e estuprar como esse aí e todos os outros...”. Neste exato momento, Maria viu-se envolvida em chamas. Do ponto onde o cigarro ficara ardendo saltou uma língua de fogo, com a qual imediatamente se entrecruzaram e entrelaçaram outras que pululavam das dobras do tecido branco. Essas labaredas multiplicaram-se para cima e para os lados antes mesmo que ela pudesse tomar fôlego para gritar. Eram azuis e amarelas e frenéticas. O pânico a fez ficar de pé num salto e bater em si mesma com as mãos. Leonard alcançou a garrafa de vinho e, ao lado desta, o copo cheio até a metade. Atirou-lhe no colo o conteúdo do copo, mas o efeito foi nulo. Ela continuava em pé e iniciava um segundo e prolongado grito enquanto ele tentava entornar a garrafa sobre seu corpo. Mas o vinho caía muito lentamente. Então por um momento sua saia lembrou as saias das dançarinas de flamenco, com seus tons de laranja e vermelho entremeados de azul, e a um som crepitante ela pôs-se a virar de um lado para o outro, debatendo-se, dando piruetas, como se fosse alçar vôo e deixar a peça em chamas para trás. Isso foi um instante, alguns segundos antes de Leonard fisgar a saia pelo cós e arrancá-la fora. O pano saiu inteiro em suas mãos e queimou com vigor renovado ao cair no chão. Ele pisoteou-o, feliz por estar de sapatos, e, com as chamas dando lugar à fumaça espessa, pôde se virar e olhar para o rosto dela. Foi alívio o que divisou lá, alívio atônito, não dor física. A saia possuía um forro interno, uma
anágua de cetim ou algum outro tecido natural, que custara a se incendiar. Fora o que a protegera. O pedaço de pano jazia sob seus pés, empardecido porém intacto. Ele não podia abandonar o que estava fazendo. Enquanto houvesse chamas, precisava continuar a pisotear o material inflamado. A fumaça tinha uma cor preto-azulada e era densa. Urgia abrir uma janela, mas queria abraçar Maria, que permanecia imóvel, possivelmente em estado de choque, nua da cintura para baixo. Tinha de ir buscar o penhoar dela no banheiro. Faria isso primeiro, assim que estivesse seguro de que o tapete não pegaria fogo. Mas quando enfim se deu por satisfeito e recuou, pareceu-lhe natural se virar e, antes de mais nada, abraçá-la. Ela estava tremendo, mas ele sabia que ficaria bem. Ela dizia seu nome vezes sem conta. Ele repetia sem parar: “Meu Deus, Maria. Ah, meu Deus”. Por fim se afastaram um pouco, alguns centímetros apenas, e olharam um para o outro. Ela parara de tremer. Beijaram-se uma, duas vezes, e então os olhos dela desgrudaram dos seus e se arregalaram. Ele virou para trás. Viu Otto recostado à porta do quarto. Os restos da saia queimada jaziam entre eles. Maria refugiou-se atrás de Leonard. Falou depressa algo em alemão que ele não compreendeu. Otto sacudiu a cabeça, aparentemente mais para clarear os pensamentos do que para contradizê-la. Depois pediu um cigarro, uma frase familiar cujo sentido quase escapou a Leonard. A despeito dos recentes progressos em seu alemão, percebeu que seria difícil acompanhar a conversa do ex-casal. “Raus”, disse Maria. Fora daqui. Ao que Leonard acrescentou em inglês: “Dê o fora antes que a gente chame a polícia”. Otto passou por cima da saia e aproximou-se da mesa. Estava usando uma jaqueta velha do Exército britânico. Via-se nela uma marca mais escura, em forma de V, de onde a divisa de cabo fora retirada. Escarafunchou o cinzeiro. Pegou a maior bituca que encontrou e usou o isqueiro de Leonard para acendê-la. Como ele ainda servisse de escudo a Maria, não podia se mover. Otto deu uma tragada ao desviar deles, rumo à porta da frente. Parecia impossível que aquele sujeito estivesse prestes a sair da noite deles. E de fato não estava. Chegou ao banheiro e entrou. Assim que a porta se fechou, Maria correu para o quarto. Leonard encheu uma panela de água e verteu-a sobre a saia. Quando ficou bem encharcada, atirou-a dentro de um cesto de lixo. Do banheiro vinha o som de Otto pigarreando e cuspindo de forma terrível, numa expectoração densa e copiosa, levada a efeito com estardalhaço obsceno. Maria reapareceu completamente vestida. No momento em que abriu a boca para falar, ouviram um estrondo. Ela disse: “Derrubou sua prateleira. Deve ter caído em cima dela”. “Que nada, foi de propósito”, retorquiu Leonard. “Ele sabe que fui eu quem a colocou ali.” Maria abanou a cabeça. Leonard não entendia por que ela o estava defendendo. “Ele está bêbado.” A porta se abriu e Otto tornou a aparecer diante deles. Maria recuou até sua cadeira, ao lado da pilha de sapatos, mas não sentou. Otto havia mergulhado o rosto na água da torneira e secarase apenas parcialmente. Os cabelos escorridos e ensopados descaíam sobre a testa, e na ponta do nariz formara-se uma gotícula. Removeu-a com as costas da mão. Talvez fosse muco. Ele olhava para o cinzeiro, mas Leonard bloqueava-lhe o caminho. O inglês havia cruzado os braços e posicionara-se com os pés bem afastados um do outro. A destruição de sua prateleira irritara-o, instigara-o a fazer estimativas. Otto era cerca de quinze centímetros mais baixo e talvez uns vinte quilos mais magro. Estava bêbado, ou de ressaca, e fora de forma. Era um sujeito franzino e baixinho. Por sua vez, Leonard teria de manter os óculos no lugar e não estava acostumado a
brigar. Todavia, sentia-se irado, inflamado. Esta era uma vantagem que tinha sobre o outro. “É melhor sair agora”, ameaçou, “ou terei de pôr você para fora.” Atrás dele Maria disse: “Ele não fala inglês”. Depois traduziu o que Leonard havia dito. A ameaça não produziu nenhum efeito no semblante pálido e embotado de Otto. Da ferida em seus lábios escorria um filete de sangue. Ele a sondou com a língua enquanto enfiava a mão primeiro num, depois noutro bolso da jaqueta. Tirou de lá um envelope marrom dobrado e o exibiu. Desviando a cabeça de Leonard, dirigiu-se a Maria. Falava com voz bastante grossa para alguém que tinha um físico tão pouco avantajado. “Consegui. Consegui o negócio no departamento tal e tal”, foi tudo o que Leonard logrou decifrar. Maria permaneceu calada. Seu silêncio tinha um feitio, uma densidade, que fez Leonard desejar olhar para trás. Mas não pretendia deixar o alemão passar. Otto já avançara um passo. Sorria arreganhando os dentes, e certa assimetria muscular repuxava-lhe para um lado o nariz afilado. Finalmente Maria disse: “Es ist mir egal, was es ist”. Não dou a mínima para o que você conseguiu. Otto arreganhou ainda mais os dentes. Abriu o envelope e desdobrou uma folha de papel que já devia ter passado por muitas mãos. “Eles têm a nossa carta de 1951. Encontraram-na. E o nosso negócio, com as nossas assinaturas. A sua e a minha.” “Isso é coisa do passado”, retrucou Maria. “Trate de esquecer essa história.” Mas era patente a hesitação em seu tom de voz. Otto riu. Tinha a língua laranja por causa do sangue que havia lambido. Sem se virar, Leonard indagou: “Maria, o que está acontecendo?”. “Ele acha que tem direito a este apartamento. Fizemos a requisição quando ainda éramos casados. Faz dois anos que tenta isso.” Súbito Leonard viu aí a solução. Otto que ficasse com o apartamento. Viveriam juntos na Platanenallee, onde ele nunca os encontraria. Em breve estariam casados, não teriam necessidade de duas casas. Jamais tornariam a vê-lo. Era perfeito. Contudo, como se lendo seus pensamentos, ou advertindo-o contra eles, Maria acrescentou, cuspindo as palavras: “Ele tem a casa dele, um quarto só para ele. Está é querendo atrapalhar a vida da gente. Ainda pensa que sou propriedade dele, isso é que é”. Otto escutava pacientemente. Tinha os olhos pregados no cinzeiro, aguardando sua chance. “Esta é a minha casa”, disse-lhe Maria. “Minha! Agora chega. Dê o fora daqui!” Em três horas empacotariam tudo, pensou Leonard. As coisas dela caberiam em dois táxis. Antes do amanhecer se veriam a salvo em seu apartamento. Por mais cansados que estivessem, poderiam ainda assim retomar a comemoração, triunfalmente. Otto deu um piparote na carta. “Leia. Veja com seus próprios olhos.” Deu mais meio passo à frente. Leonard postou-se diante dele, barrando-lhe o caminho. Porém Maria talvez devesse ler o documento. Disse ela: “Você não contou sobre o divórcio. Por isso é que acham que você tem direito a isto aqui”. Otto estava exultante. “Acontece que eles sabem. Sabem, sim. Inclusive nós temos que nos apresentar a um fulano para ele decidir quem é que precisa mais do apartamento.” Lançou um olhar para Leonard, depois tornou a inclinar a cabeça a fim de encarar Maria. “O inglês aqui tem um apartamento, você tem um anel no dedo. O fulano vai querer saber que história é essa.”
“Ele vai se mudar para cá”, disse Maria. “Isso encerra o assunto.” Dessa vez Otto não desviou os olhos do olhar de Leonard. O alemão dava a impressão de ter se revigorado, parecia menos derribado, menos bêbado, e mais ladino. Pensava estar levando a melhor. Falou sorrindo: “Nee, nee. Die Platanenallee 26 wäre besser für euch”. Blake tinha razão. Berlim era uma cidadezinha pequena, um vilarejo. Maria vociferou qualquer coisa. Um insulto, decerto, e bastante eficaz. O sorriso desapareceu do rosto de Otto. Ele esbravejou de volta. Leonard viu-se sob o fogo cruzado de uma briga conjugal, uma antiga guerra. Das saraivadas só distinguia os verbos que se amontoavam no fim das frases em staccato como munição gasta e os vestígios de algumas obscenidades que ele havia aprendido, proferidas com entonações novas, mais violentas. Ambos gritavam ao mesmo tempo. Maria parecia uma fera, uma gata selvagem, uma tigresa. Jamais imaginara que ela pudesse ficar tão encolerizada e, por alguns instantes, envergonhou-se de nunca lhe ter suscitado fúria semelhante. Otto quis forçar a passagem. Leonard esticou o braço a fim de impedir seu avanço. O alemão mal se apercebeu do contato e Leonard não gostou do que sentiu. O toque indicou-lhe um peito sólido e compacto, qual um saco de areia. As palavras do sujeito vibravam em seu braço. A carta de Otto deixara Maria na defensiva, mas o que ela dizia agora, fosse o que fosse, tinha endereço certo. Você nunca foi capaz, não tinha, não consegue... Mirava as fraquezas, a bebida talvez, ou o sexo, o dinheiro, e Otto estremecia, trovejava. O sangramento do lábio tornara-se mais intenso. Sua saliva respingava no rosto de Leonard. Tornou a forçar a passagem. Leonard segurou-lhe o braço. Este também era rijo, impossível desviar de seus movimentos. Então Maria disse uma coisa intolerável e Otto livrou-se de Leonard e partiu para cima dela, arremetendo diretamente contra a garganta, suprimindo-lhe as palavras e qualquer outro som possível. Tinha a mão livre soerguida, o punho cerrado. No instante em que este iniciava a trajetória rumo ao rosto de Maria, Leonard agarrou-o com as duas mãos. A traquéia dela estava sob forte constrição, a língua, num tom púrpura escuro, fora expelida para fora, os olhos esbugalhados já não suplicavam mais. O golpe ainda puxou Leonard um pouco para a frente, mas ele forçou o braço de Otto para baixo, trouxe-o para trás e girou-o para cima, às costas do alemão, pressionando a junta onde o membro deveria se quebrar. Otto foi obrigado a virar para a sua direita e, no momento em que Leonard conseguiu fixar as duas mãos com mais firmeza em seu pulso, forçando-lhe o braço para cima ao longo da espinha, Otto acabou por largar o pescoço de Maria e girou para se soltar e encarar seu agressor. Leonard largou o pulso dele e deu um passo para trás. Agora suas expectativas se confirmavam. Era isso que ele temia. Via-se na iminência de ficar gravemente ferido, aleijado para o resto da vida. Se a porta da frente estivesse aberta, talvez tentasse sair correndo por ela. Otto era pequeno e forte e incrivelmente cruel. Era contra o inglês que ele agora dirigia todo o seu ódio e toda a sua raiva, tudo aquilo que na realidade cabia a Maria. Leonard empoleirou os óculos no nariz. Não se atrevia a tirá-los. Precisava ver o que estava prestes a lhe acontecer. Ergueu os punhos, imitando o gesto dos boxeadores. Otto mantinha os braços soltos ao longo do corpo, como um caubói prestes a sacar a arma. Seus olhos de bêbado estavam vermelhos. O que ele fez foi simples. Levou a perna direita para trás e desferiu um pontapé na canela do inglês. Leonard abriu a guarda. Otto esmurrou-o, mirando o pomo-deadão. Leonard conseguiu virar o corpo e acabou sendo atingindo na clavícula. Doeu, doeu muito, uma dor absurda. Talvez tivesse quebrado o osso. O próximo pegaria na espinha. Ele levantou os braços, as mãos espalmadas. Queria falar alguma coisa, queria que Maria falasse alguma coisa.
Divisava-a por cima do ombro de Otto, parada junto à pilha de sapatos. Podiam ir morar na Platanenallee. Se ela ao menos considerasse essa possibilidade, veria que era uma excelente idéia. Otto tornou a golpeá-lo, com força, um tremendo murro na orelha. Leonard escutou um som de campainha elétrica retinindo em todos os cantos da sala. Uma pancada tão venenosa, tão... injusta. Foi a última coisa que lhe passou pela cabeça antes de se atracarem. Cingiram-se um ao outro. Deveria puxar mais para perto de si o corpo rijo, compacto e nojento do baixinho, ou seria melhor empurrá-lo para longe, de onde ele poderia acertá-lo novamente? Sentiu a desvantagem da estatura elevada. Otto colara-se a seu corpo, e ele de repente entendeu por quê. Sentiu duas mãos tateando entre suas pernas, encontrando seus testículos, fechando-se em volta deles. Era o mesmo gesto estrangulador que fora aplicado à garganta de Maria. Um tom ocre-avermelhado invadiu-lhe a visão, um grito agudo soou na sala. Dor não era uma palavra grande o bastante. Era sua própria consciência submetida a um terrível saca-rolhas. Faria tudo, daria qualquer coisa para se livrar daquilo, preferia até morrer. Dobrou-se sobre si mesmo e sua cabeça ficou no mesmo nível que a de Otto, sua face roçou na dele, então ele girou o pescoço, abriu a boca e mordeu com toda a força o rosto do alemão. Não foi uma manobra estratégica. Foi a agonia da dor que lhe pressionou a mandíbula até que seus dentes se encontrassem e a boca ficasse cheia. Ouviu-se um urro que não podia ser seu. A dor diminuiu. Otto tentava se desengalfinhar. Leonard o soltou e cuspiu algo que tinha a consistência de uma laranja meio chupada. Não sentiu gosto de nada. Otto uivava. Na maçã de seu rosto entrevia-se um molar amarelo. E sangue. Quem jamais imaginaria que pudesse haver tanto sangue no rosto de uma pessoa? Otto tornava a investir contra ele. Leonard sabia que agora não teria como escapar. O alemão aproximou-se com a cara toda ensangüentada e havia outra coisa além dele, algo que vinha de trás, uma coisa preta que surgiu na extremidade superior de sua visão periférica. A fim de se proteger disso também, Leonard levantou o braço direito, e o tempo passou a correr mais devagar quando sua mão se fechou em torno de um objeto frio. Não tinha como desviá-lo de seu curso, só o que podia fazer era empunhá-lo e participar, deixá-lo prosseguir em seu movimento descendente, e do alto ele veio, todo força e ferro, o gesto do pé que chuta, precipitando-se como um ato de justiça, com sua mão e a de Maria nele, carregando todo o peso de uma sentença, o pé de ferro desabou sobre a cabeça de Otto e, com a ponta dos dedos, perfurou-lhe o crânio, penetrando fundo. Sem emitir um som sequer, o alemão caiu de bruços e se estatelou no chão. A fôrma de sapateiro continuava enterrada em sua cabeça, e a cidade inteira jazia em silêncio.
17.
Depois da festa de noivado, os jovens noivos passaram a noite toda acordados, conversando. Era assim que ele tentava enxergar os acontecimentos, duas horas após o amanhecer, enquanto esperava o ônibus para Rudow na fila de gente que saía para o trabalho. Sentia necessidade de uma seqüência, de uma história. Era preciso haver uma ordem. Uma coisa depois da outra. Subiu no ônibus e encontrou um lugar vazio. Seus lábios balbuciavam as palavras enquanto ele agia. Encontrou um lugar vazio e sentou-se. Depois da briga, passara dez minutos escovando os dentes. Depois os dois haviam jogado um cobertor sobre o corpo. Ou será que primeiro haviam coberto o corpo e só depois é que ele fora ao banheiro e passara dez minutos escovando os dentes? Não teriam sido vinte minutos? A escova de dentes dele estava no chão, entre os cacos de vidro, debaixo da prateleira que havia despencado. A pasta caíra dentro da pia. O bêbado derrubara a prateleira e a pasta caíra na pia. A pasta sabia que em seguida seria necessária, a escova não. A pasta estava no comando, ela é que planejava tudo... Não, não removeram a fôrma, não puderam removê-la. Ela ficara espetada por baixo do cobertor. Maria riu. A fôrma continuava lá. Cobriram-na e continuava lá. Os vivos e a fôrma. Os vivos arrumaram um lugar para se sentar, a fôrma teve de ficar em pé. À medida que avançavam pela Hasenheide, o número de passageiros ia aumentando. Só havia lugar em pé. Então o motorista gritou para a calçada, avisando que o ônibus estava lotado. Isso até que foi reconfortante, ninguém mais podia subir. Por ora estavam a salvo. Ao virar para o sul e entrar no contrafluxo do trânsito matinal, o ônibus começou a se esvaziar. Quando chegaram ao vilarejo de Rudow, só restava Leonard, abandonado entre as fileiras de assentos. Iniciou a caminhada de costume. Não se lembrava de haver tantos prédios em construção. Não passava por ali desde o dia anterior. Desde a manhã anterior, antes de ficar noivo. Tiraram um cobertor da cama e jogaram por cima dele. Não por respeito, não entendia como podia haver passado por sua cabeça que aquilo tinha algo a ver com respeito. Precisavam se proteger daquela visão. Precisavam estar em condições de raciocinar. Então ele resolveu retirar a fôrma. Talvez isso fosse respeito. Ou ocultação. Ficou de joelhos e agarrou-a. O toque fez com que ela se mexesse, como um cajado mergulhado em lama espessa. Foi por isso que não a pôde remover. Teria de esfregá-la e enxaguá-la sob a torneira do banheiro? Tentaram cobrir aquele troço todo e ficou ridículo: um sapato velho numa ponta, o contorno misterioso assomando na outra, subtraindo o pedaço de cobertor que devia caber ao sapato. Maria pôs-se a rir, uma risada incontrolável, horrível, cheia de medo. Ele também teria sido capaz de rir. Ela não o procurou com os olhos, como fazem as pessoas quando riem. Tratava-se de algo só dela. Tampouco tentou parar. Se parasse, começaria a chorar. Ele também teria sido capaz de rir, mas não ousou fazê-lo. As coisas podiam sair do controle. Nos filmes, quando as mulheres riam daquela maneira, deviam ser esbofeteadas com força. Então, caindo em si, silenciavam, punham-se a chorar e a partir daí era possível reconfortá-las. Mas ele estava cansado demais. Havia o risco de ela reclamar, ou repreendê-lo, ou de devolver as bofetadas. Sabe-se lá o que podia acontecer.
Já acontecera. Antes ou depois do cobertor, ele escovou os dentes. A escova não foi suficiente, não deu conta do serviço. Chamou-a e ela trouxe os palitos de dentes. Foi o que teve de usar para retirar o que ficara preso entre um incisivo e um canino. Não sentiu náuseas. Pensou nos almoços de domingo em Tottenham, ele e seu pai com os palitos, antes do pudim. Sua mãe nunca os usava. Por alguma razão as mulheres não os usavam. Não engoliu o fiapo para não acrescentar mais um crime aos já cometidos. Agora todo e qualquer detalhezinho era um bônus. Livrou-se do fiapo na água da torneira e nem chegou a vê-lo direito, salvo pelo vislumbre de uma coisa dilacerada, levemente rosada; então cuspiu uma vez, depois outra e enxaguou a boca. Em seguida tomaram um drinque. Ou talvez ele já houvesse tomado um para ganhar coragem quando resolveu tirar a fôrma. O vinho havia se ido, o bom Mosel fora parar na saia queimada. Só o que tinham para beber era o gim do naafi. Sem gelo, limão ou água tônica. Foi com o copo para o quarto. Ela estava pendurando as roupas nos cabides. Não havia mijo nelas, outro bônus. Ela perguntou: Cadê o meu? Por isso teve de lhe dar o copo e voltar para buscar outra dose. Estava junto à mesa, servindo o gim, tentando não olhar, quando olhou. Tinha se mexido. Agora eram dois sapatos e uma meia preta. Eles não o haviam virado de frente, não verificaram se estava de fato morto. Olhou para o cobertor à procura de um indício de respiração. Tudo começara com a respiração. Havia tremores, movimentos sutis para cima e para baixo? Seria pior se houvesse? Teriam de chamar uma ambulância antes de poder conversar e tirar aquela história a limpo. Ou teriam de matá-lo novamente. Fitou o cobertor, e fitá-lo fazia com que ele se mexesse. Levou o drinque para o quarto e contou o que havia visto. Ela não se dispôs a ir ver. Recusava-se a acreditar naquilo. Tinha decidido. Estava morto. Terminou de pendurar as roupas e fechou a porta do armário. Saiu do quarto para procurar os cigarros, mas ele sabia que ela queria era dar uma espiada. Ela voltou e disse que não conseguira encontrá-los. Sentaram-se na cama e beberam. Ao se sentar, seus testículos doeram. A orelha também, e a clavícula. Alguém devia cuidar dele. Mas tinham de conversar e, para conversar, tinham de pensar. Para tanto precisavam beber e ficar ali sentados, mas isso doía, assim como doía a orelha. Havia que romper esses círculos por demais velozes e fechados. Por isso bebeu o gim. Olhou para ela, que mantinha os olhos fixos no chão em frente a seus pés. Era bonita, ele sabia disso, mas não conseguia senti-lo. Sua beleza não o afetava da maneira que ele desejava. Queria que ela o comovesse e que, por sua vez, se lembrasse do que sentia em relação a ele. Então conseguiriam encarar juntos a situação e decidir o que iriam dizer à polícia. No entanto, olhava para ela e não sentia nada. Colocou a mão em seu braço, mas ela não tirou os olhos do chão. Precisavam combinar as coisas, de modo que pudessem ter certeza de que a polícia acreditaria na história deles. Os policiais talvez percebessem como ela era bonita, talvez até o sentissem. Ele só o sabia por ser um fato. Se o sentissem, talvez compreendessem, e essa poderia ser a salvação deles. Foi legítima defesa, ela lhes diria, e tudo acabaria bem. Tirou a mão de seu braço e perguntou: O que vamos dizer à polícia? Ela não respondeu, nem sequer levantou os olhos. Talvez não houvesse feito a pergunta. Pretendera fazê-la, mas ele próprio não ouvira nada. Não conseguia se lembrar de tê-la feito. Estava passando pelos barracos dos refugiados. Andar era doloroso. A clavícula só doía quando ele levantava o braço, a orelha só incomodava quando a tocava, mas os testículos atormentavam-no tanto sentado quanto andando. Assim que saísse do campo de visão dos
refugiados, descansaria um pouco. Avistou um garoto de cabelos ruivos, o cocuruto laranja como uma cenoura. Estava de short e seus joelhos exibiam várias crostas de machucados. Tinha pinta de arreliento. Parecia um inglesinho. Leonard já o vira várias vezes em suas caminhadas até o armazém. Nesse tempo todo nunca haviam se falado nem trocado acenos. Apenas se olhavam, como se houvessem se conhecido nalguma vida anterior. Nesse dia, para chamar um pouco de sorte, Leonard acenou com a mão e produziu um meio sorriso. Sentiu dor ao erguer o braço. O garoto, que não teria dado a mínima se soubesse disso, limitou-se a continuar olhando para ele. O adulto havia desrespeitado as regras. Continuou caminhando até o fim da curva e parou para se encostar a uma árvore. Do outro lado da estrada havia um bloco de apartamentos em construção. Em breve este lugar viraria uma cidade. Os moradores não saberiam como haviam sido as coisas por ali antes. Ele regressaria para lhes contar. Isto aqui nunca foi um lugar dos melhores, diria. Portanto, não há problema. Está tudo bem. Exceto os pensamentos, que iam e vinham sem parar. Não havia nada que pudesse fazer. Tocou o braço dela novamente, ou talvez o tenha tocado pela primeira vez. Tornou a lhe fazer a pergunta, ou talvez a tenha feito pela primeira vez, e cuidou que as palavras fossem efetivamente pronunciadas. Sei, respondeu ela, como quem dissesse: Também quero saber, também estou aflita com isso. Ou talvez: Você já me perguntou isso, eu já escutei. Ou talvez: Está surdo, não ouviu o que eu acabei de dizer? Para não voltar à estaca zero, ele afirmou: Foi legítima defesa, foi legítima defesa. Ela suspirou. Depois disse: Eles o conhecem. Claro que sim, concordou ele. E é por isso que compreenderão. De uma só tirada, ela disse: Acontece que gostavam dele, achavam que era um herói de guerra, por conta de alguma história que ele inventou. Pensavam que ele bebia por causa da guerra. Era um beberrão que tinha de ser perdoado. Quando estavam de folga, às vezes lhe pagavam uma cerveja. E julgavam que eu também era culpada por ele beber. Falaram isso quando os chamei aqui uma vez. Queria que eles me protegessem, e sabe o que disseram? Que eu estava deixando o coitado maluco. Levantou-se da cama para ver se a dor passava. Queria ir buscar o gim. Trazer a garrafa para o quarto. Procurar os cigarros. Ainda restavam três no maço, mas andar era dolorido. E se fosse até lá, talvez reparasse que houvera nova movimentação. Parou ao lado do guarda-roupa e disse: Esses são os que ficam na delegacia distrital, a Ordnungspolizei. Temos que falar com a Kriminalpolizei, lá o pessoal é diferente. Embora estivesse dizendo isso, é claro que não havia nenhum criminoso ali, não tinha acontecido crime nenhum, fora legítima defesa. Ela retrucou: Mas os amigos dele aparecerão do mesmo jeito. É obrigação deles, está na área deles. E o que nós vamos falar para eles, então?, indagou ele. Ela balançou a cabeça. Achou que ela queria dizer que não sabia. Mas o sentido do gesto fora bem outro. Ainda eram duas e meia da madrugada e o sentido de seu gesto já fora bem outro. Percorrendo o trajeto costumeiro, era capaz de fingir que não havia acontecido nada. Estava a caminho do trabalho, só isso. Desceria até o túnel, ansiava por chegar ao túnel. Saíra para buscar o gim. Não encontrou os cigarros em lugar nenhum. Olhou para os sapatos. Estavam mais para fora, não restava dúvida. Via as duas meias e um pedaço de perna nua com seus pêlos esparsos. Correu para o quarto e relatou o fato, mas ela não ergueu os olhos. Tinha cruzado os braços e
olhava fixamente para a parede. Ele fechou a porta e serviu mais gim para ambos. Ao beber, pensou no naafi. Já sei, disse. Chamamos a polícia do Exército britânico. Ou a dos americanos. Sou um adido, compreende? E é isso que devo fazer. Ela quase descruzou os braços, então tornou a encaixá-los um no outro. Estou envolvida, disse. A polícia alemã terá que ser avisada. Ele continuava em pé. Propôs: Eu digo que foi tudo culpa minha. Que idéia maluca. Ela não sorriu nem abrandou o tom de voz. Disse: Você é muito bom e generoso. Mas ele é alemão, este apartamento é meu e ele já foi meu marido. Terão que avisar a polícia alemã. Ficou contente por sua sugestão não ter sido aceita. Argumentou: Desse jeito não chegamos a lugar nenhum. Podem até achar que ele era um herói de guerra, mas também sabem que era um sujeito violento, beberrão e ciumento, é a nossa palavra contra a dele e, além do mais, se quiséssemos matá-lo, não amassaríamos a cabeça dele para depois avisar a polícia. Ela objetou: Se pensássemos que conseguiríamos escapar impunes, por que não? E quando ele não respondeu por não ter compreendido o sentido daquilo, ela afirmou: Totschlag, é o que vão dizer. Homicídio culposo. Aproximou-se dos sentinelas. Jake e Howie estavam no portão. Foram afetuosos com ele e fizeram uma piada sobre sua orelha inchada. Ainda precisava mostrar o passe. Continuava tão válido quanto havia sido no dia anterior. Nem tudo havia mudado, nem tudo era ruim. Seguiu em frente, passou pela guarita, avançou pela trilha, o percurso de todos os dias. Não encontrou ninguém no caminho até sua sala. Havia um bilhete de Glass afixado à porta. Quero falar com você. Na cantina, às 13h. A sala estava do mesmo jeito que ele a havia deixado: a bancada de trabalho, ferros de soldar, ohmímetros, voltímetros, testadores de válvulas, rolos de cabo, caixas de peças sobressalentes, um guarda-chuva quebrado que ele pretendia consertar com solda. Ali estavam as suas coisas, eis o que ele fazia, o que ele de fato fazia, tudo às claras e dentro da lei. Ou às claras para uns e às escuras para outros e, dependendo da definição empregada, não exatamente dentro da lei. Havia algumas definições com as quais eles andavam em pé de guerra, havia certas definições que eles tinham assumido o compromisso de erradicar. Tenho que parar com isso, pensou. Preciso me acalmar. Homicídio culposo, disse ela. Apesar da dor, ele teve de se sentar na cama. Soava pior que assassinato. Homicídio. Soava pior. Todavia parecia ser a palavra adequada para descrever o que eles haviam deixado do lado de lá da porta. Tentou algo diferente. Quer saber de uma coisa?, disse. Vou tratar de arrumar um médico para mim, agora. Bocejando, ela indagou: Está doendo tanto assim? Mais um assunto sobre o qual ela não queria pensar. Ele disse: Alguém precisa dar uma olhada na minha clavícula e na minha orelha. Não mencionou os testículos. Estavam doendo. E não queria um médico examinando-os, apertando-os e pedindo para ele tossir. Contorceu-se no lugar onde estava sentado e disse: É melhor eu ir. Você não entende? É a nossa prova de que foi legítima defesa. Preciso ir enquanto está doendo para valer, assim podem tirar fotos. Mas não, pensou, dos meus colhões. Ao que ela inquiriu: E aquele buraco na cara dele, você vai dizer que foi legítima defesa
também? Continuou sentado e por pouco não desmaiou. Atravessou o corredor rumo ao bebedouro. Queria sentir a água no rosto. Passou pelo escritório de Glass e deu uma espiada. O americano tinha saído, mais um bônus. Julgava-se capaz de acenar para garotos, cumprimentar sentinelas, mas não de falar com Glass. Pegou algumas válvulas e outras bugigangas em sua sala e trancou-a. Ia terminar um servicinho que deixara pela metade no dia anterior. Talvez o ajudasse a se aquietar. Era uma desculpa para estar no túnel, um pretexto para ir buscar o que pretendia retirar de lá. Se for ao médico, advertiu ela, terá de contar o que aconteceu, e isso significa avisar a polícia. Ele insistiu: Mas ao menos teremos a prova de que houve uma luta, isso mesmo, uma luta. Ele podia ter me feito em pedacinhos. Ah, claro, disse ela, a prova de que foi legítima defesa. Mas como fica a questão do buraco na cara dele? Ora, volveu ele. Você explica a eles por que foi que tive de fazer aquilo. Mas eu não sei por que você fez aquilo, redargüiu ela. Me diga, por que foi que você o mordeu daquele jeito? Ele indagou: Você não viu? Não viu o que ele estava fazendo comigo? Como ela abanasse a cabeça, ele contou. E quando concluiu, ela disse: Mas eu não vi nada disso, vocês estavam muito perto um do outro. Pois foi o que aconteceu, disse ele. Ela bebericou o gim e perguntou: Doeu tanto assim? A ponto de você abrir um buraco com os dentes na cara dele? É claro que doeu, respondeu. E você terá de dizer que viu o que ele fez comigo. É importante que você fale isso para eles. E ela: Mas você disse que não precisávamos mentir, que não fizemos nada de errado, que não temos nada para esconder deles. Eu falei isso?, indagou ele. Pois é, não fizemos nada de errado, mas temos que dar um jeito de acreditarem em nós, precisamos de uma história bem contada. Ah, bom, disse ela. Agora eu entendi. Se vamos mentir, se temos que inventar uma história, então precisamos fazer a coisa direito. E descruzou os braços e o encarou. Passou pela terra amontoada até o teto do porão. Dizia-se que nas vertentes mais escuras às vezes brotavam cogumelos, mas ele nunca vira nenhum. E não fazia questão de ver um agora. Estava parado na borda do poço, sentia-se melhor. O som dos geradores, as lâmpadas brilhantes na entrada do túnel, as que emitiam uma luz baça ali em cima, os cabos e as linhas de campanha descendo pelo poço, a ventilação, os sistemas de refrigeração. Os sistemas, pensou, precisamos de sistemas. Exibiu sua autorização e disse para o sentinela que iria trazer algumas coisas para cima e teria de usar o elevador. “Está às ordens, senhor”, respondeu o sujeito. A velha escada de ferro vertical fora retirada. Agora desciam por uma escada em espiral que dava uma volta e meia contornando a parede até chegar ao fundo do poço. Esses americanos pensam em tudo, refletiu. Querem tornar as coisas possíveis e simples. Querem cuidar das pessoas. Esta escada de estrutura leve e inclinação suave, com seus degraus antiderrapantes e sua balaustrada de alambrado, as máquinas de Coca-Cola dos corredores, os bifes e o leite com chocolate da cantina. Vira homens crescidos tomando leite com chocolate. Os ingleses teriam mantido a
escada antiga, uma vez que as dificuldades faziam parte das operações secretas. Os americanos pensavam em “Heartbreak Hotel” e “Tutti frutti”, em jogar bola no terreno baldio, marmanjos com seus bigodes de leite com chocolate brincando de arremessar a bola de um lado para o outro. Eram inocentes. Como alguém poderia furtar segredos deles? Não conseguira nada para MacNamee, na verdade não havia nem tentado. Era um bônus. Sentiu muita dor ao descer a escada. Foi com alívio que chegou ao último degrau. Não descobrira nada sobre a técnica do tal de Nelson, nenhuma informação sobre como extrair das mensagens codificadas os ecos deixados pelo texto original. Eles tinham esses segredos e também tinham o seu leite com chocolate. Não encontrara nada. Experimentou abrir uma ou duas portas. Não mentira para MacNamee, mas tampouco se apropriara de nada, de modo que não precisava mentir para Glass. Ela tornou a dizer: Se vamos mentir... E deixou a frase no ar. Era a vez dele. Disse: Precisamos ficar unidos, temos de estar seguros do que vamos dizer. Vão nos colocar em salas separadas para ver se nos contradizemos. Então parou e divagou: O problema é que nem temos como mentir. O que vamos dizer, que ele escorregou e bateu a cabeça no chão do banheiro? Sei, disse ela. Sei, como quem diz: Tem toda razão. Vá em frente, está a um passo da inevitável conclusão. Porém ele não prosseguiu. Continuou ali sentado, pensando em se levantar. Despejou mais gim no copo. Por algum motivo essa bebida tépida não o parecia afetar. No túnel havia um ar escuro e sedoso, purificado por máquinas, um silêncio de fabricação humana, e competência, engenhosidade, circunspecção para onde quer que ele olhasse. Levava as válvulas nas mãos, tinha um serviço a fazer. Andava entre os velhos trilhos ferroviários, os trilhos por meio dos quais o lodo da fossa séptica havia sido retirado dali. Você está bebendo demais, disse ela. Desse jeito não vai conseguir raciocinar. Ele esvaziou o copo para poder apoiá-lo na cama. Conseguia raciocinar melhor quando fechava os olhos. Assim sua orelha doía menos. E tem mais, acrescentou ela. Está escutando? Não durma. Lá na Rathaus, na prefeitura, eles sabem que ele dizia ter direito a este apartamento, sabem que estava brigando por ele. Lá eles têm a correspondência, a papelada toda. Ele perguntou: E daí? Você mesma disse que isso não tinha o menor cabimento. Es macht nichts, retrucou ela. Ele tinha dado queixa, e nós tínhamos uma razão para brigar. Um motivo, disse ele. Está querendo dizer que essa seria a nossa motivação? Por acaso parecemos pessoas que resolvem disputas por moradia dessa maneira? Quem sabe?, volveu ela. Não anda nada fácil arrumar um lugar para morar. Em Berlim já houve quem matasse por menos. A única implicação disso, argumentou, é que ele tinha dado queixa, veio aqui para nos agredir e nos obrigou a agir em legítima defesa. Quando ela achou que haviam empacado, cruzou os braços de novo. Disse: Foi no trabalho que ouvi essa expressão, homicídio culposo. Um caso que o major me contou. Aconteceu um ano antes de eu começar a trabalhar lá. Um dos mecânicos da oficina, um civil alemão, começou a brigar com outro homem numa Kneipe e acabou por matá-lo. Deu uma garrafada na cabeça dele e o matou. Estava bêbado e fora de si, não teve a intenção de matar. Ficou muito arrependido quando percebeu o que tinha feito. E o que aconteceu com ele?
Pegou cinco anos de prisão. Acho que ainda deve estar preso. No túnel era um dia como outro qualquer. Não havia quase ninguém por ali, tudo estava em ordem, o lugar funcionava na mais perfeita normalidade. Isso era bom, assim é que o resto do mundo devia ser. Parou e olhou. Viu, amarrada ao extintor de incêndio, uma etiqueta indicando que a vistoria semanal fora realizada às 10h30 do dia anterior. Ali estavam as iniciais do engenheiro, o telefone de seu escritório, a data da próxima vistoria. Perfeição. Lá estava o terminal de telefone e, a seu lado, uma lista de números: oficial de serviço, pessoal da segurança, brigada de incêndio, sala de gravações, câmara de escuta. Este magote de linhas presas por um grampo novo e reluzente, formando feixes que lembravam os cabelos de uma garotinha, ia dos amplificadores à sala de gravações. Estas eram as linhas que seguiam para a câmara de escuta, esta a tubulação por onde circulava a água empregada para refrigerar os aparelhos eletrônicos, estes os dutos de ventilação, por este fio passava a corrente independente dos sistemas de alarme, isto era um sensor ao qual estava ligada uma sonda enterrada no solo adjacente. Esticou o braço e tocou-os. Todos funcionavam, ele os amava. Abriu os olhos. Ambos haviam permanecido em silêncio por cinco minutos. Talvez vinte minutos houvessem se passado. Abriu os olhos e começou a falar. Mas isto aqui não foi uma briga de bar. Ele me atacou, podia ter me matado. Interrompeu-se e lembrou. Primeiro ele te atacou, agarrou você pela garganta. Esquecera-se da garganta dela. Deixe-me ver isso, disse. Está doendo? Marcas vermelhas espalhavam-se por toda a superfície de sua garganta e chegavam até o queixo. Tinha se esquecido disso. Dói para engolir, respondeu ela. Está vendo?, disse ele. Você devia ir comigo ao médico. Esta é a nossa história, e é a pura verdade, é o que aconteceu. Por pouco ele não estrangula você. É, pensou ele. Eu o impedi. Ela disse: São quatro da manhã. A esta hora não encontraremos nenhum médico para nos atender. E mesmo que encontremos, ouça uma coisa. Fez uma pausa, depois descruzou os braços. Ouça uma coisa, estou esse tempo todo pensando na polícia e no que verão quando entrarem aqui. Tiramos o cobertor antes, propôs ele. Disse ela: O cobertor não tem a menor importância. Sabe o que vão ver? Um corpo mutilado. Não diga isso, pediu ele. Um crânio amassado, prosseguiu ela, e um buraco na cara. E nós, o que temos para mostrar? Uma orelha vermelha, uma garganta dolorida? E os meus colhões, pensou ele, mas não disse nada. Encontrou dois técnicos trabalhando junto aos amplificadores. Só precisou menear a cabeça na direção deles. Quando chegou ao final das prateleiras, parou. Ali ficava uma escrivaninha e, alojadas embaixo dela, exatamente como se lembrava, avistou-as. Mas podia parar na volta. Tinha que fazer seu trabalho, isso o ajudaria. Não, nem isso. Queria fazê-lo, tinha de segurar as pontas. Passou pelas portas pressurizadas e entrou na câmara de escuta. Encontrou outros dois sujeitos lá dentro, pessoas que ele sempre cumprimentava, mas que nunca conhecera direito. Um deles estava usando os fones de ouvido, o outro escrevia. Sorriram para ele. Ninguém podia conversar ali, se houvesse algo de essencial a comunicar, era preciso fazê-lo por meio de sussurros, e só. O sujeito que estava escrevendo apontou para a sua orelha inchada e fez uma
careta. Um dos dois gravadores que ficavam na câmara, o que não estava sendo usado, tinha uma válvula que precisava ser substituída. Sentou-se e pôs-se calmamente a desaparafusar a tampa. Isto é o que estaria fazendo se nada houvesse acontecido. Queria que demorasse para acabar. Trocou a válvula e ficou um tempo mexendo no aparelho, verificando as conexões e os pontos de solda da ativação de sinal. Depois de recolocar a tampa, permaneceu sentado, fingindo pensar em alguma coisa. Deve ter pegado no sono. Estava de costas, viu a luz acesa, estava todo vestido e não conseguia se lembrar de nada. Então se lembrou. Ela sacudia-lhe o braço e ele sentou na cama. Ela disse: Você não pode ficar aí dormindo e deixar tudo por minha conta. Os últimos acontecimentos voltaram-lhe à cabeça. Queixou-se: Tudo que eu sugiro, você é contra. Fale você alguma coisa. Ela disse: Não quero falar. Quero que você veja por si mesmo. Ver o quê?, perguntou. Depois de horas sentada, ela finalmente ficou em pé. Colocou a mão na garganta e disse: A polícia não vai acreditar nessa história de legítima defesa. Ninguém vai. Se contarmos o que aconteceu, vamos parar na cadeia. Ele procurou pela garrafa de gim, não estava onde a havia deixado. Ela provavelmente a colocara em outro lugar, e ele não se incomodou, pois a essa altura sentia-se enjoado. Retrucou: Não creio que isso seja necessariamente verdade. Porém não estava falando sério, ela tinha razão, iam acabar na cadeia, numa cadeia alemã. Bom, disse ela, pelo jeito eu vou ter que falar mesmo. Já que alguém tem que falar, eu falo. Não precisamos avisar a polícia, manteremos isso em segredo. Tiramos o corpo daqui e o levamos para um lugar onde ninguém o encontre. Ah, meu Deus!, exclamou ele. E se um dia o encontrarem, prosseguiu ela, e vierem me contar, eu direi: ‘Puxa, que triste, mas sabem como é, ele bebia e era um herói de guerra, mais dia, menos dia ia acabar se metendo em encrenca’. Meu Deus, disse ele, e depois: Se nos pegam tentando tirá-lo daqui, estamos fritos, vai parecer que foi assassinato. Assassinato. Isso é verdade, concordou ela. Temos que fazer a coisa direito. Sentou a seu lado. Temos que trabalhar juntos, disse ele. Ela aquiesceu com a cabeça e eles deram-se as mãos e ficaram algum tempo em silêncio. Por fim teve de ir. Precisou deixar aquela câmara acolhedora. Fez um gesto com a cabeça para os dois homens, atravessou as portas duplas e engoliu em seco para adaptar os ouvidos à pressão mais baixa. Então se ajoelhou ao pé da escrivaninha. Lá estavam as duas malas vazias. Resolveu levar as duas. Cada uma delas comportava dois dos volumosos gravadores Ampex, assim como peças sobressalentes, microfones, carretéis de fita magnética e cabos. Eram pretas, tinham as extremidades reforçadas, dois grandes fechos de mola e duas cintas de lona com fivelas que as envolviam para torná-las mais seguras. Abriu uma delas. Não encontrou nenhuma inscrição, nem do lado de dentro nem do lado de fora, nenhum número de série do Exército e tampouco o nome do fabricante. A alça de lona era larga. Pegou-as e saiu andando pelo túnel. Foi um problema se espremer com elas para passar entre os homens que estavam junto às prateleiras dos amplificadores, mas um deles se ofereceu para ajudar e levou uma mala até o outro lado. Depois
ele seguiu por conta própria, tropeçando nas malas enquanto avançava pelo túnel em direção ao poço principal. Poderia ter subido com uma mala de cada vez pela escada, mas, assim que o viu, o sujeito no alto do poço trouxe o guindaste e pôs o guincho elétrico para funcionar. Depositou-as no estrado e elas chegaram lá em cima antes dele. Passou de volta pelos montes de terra, assomou ao térreo, saiu com dificuldade por um par de portas duplas desajeitadas e seguiu margeando a rua interna até chegar aos sentinelas. Teve de abrir as malas para Howie, mera formalidade, então se viu na estrada, rumo a suas férias. Eram volumosas o bastante para incomodar, estas suas novas malas de viagem. Chocavam-se contra suas pernas, obrigavam-no a manter os braços afastados do corpo e deixavam seus ombros doloridos. E ainda estavam vazias. Não viu nem sinal do menino com o cocuruto de cenoura. Ao chegar ao vilarejo, teve dificuldade para ler o quadro de horários do ponto de ônibus, os números deslocavam-se na diagonal, em sentido ascendente. Leu-os em movimento. Teria de aguardar quarenta minutos, por isso encostou as malas contra um muro e sentou em cima delas. Foi o primeiro a falar. Eram cinco da manhã. Disse: Poderíamos arrastá-lo pela escada e levá-lo até um dos prédios bombardeados. Colocamos uma garrafa na mão dele, para fazer parecer que ele teve algum desentendimento com outros bêbados. Ele disse isso tudo, mas sabia que não teria forças para tanto, não àquela altura. Ela redargüiu: Tem gente subindo e descendo por essas escadas o tempo todo. Quando não são os que chegam do turno da noite, são os que saem cedo para o trabalho. Isso sem contar os velhos que não dormem nunca. Isto aqui não pára. Enquanto ela falava, ele assentia com a cabeça. Era uma idéia, mas não a melhor, e ficou satisfeito de agora estarem refletindo sobre a situação. Finalmente concordavam com alguma coisa, enfim estavam chegando a algum lugar. Fechou os olhos. Acabaria dando tudo certo. Então o motorista do ônibus o chacoalhou. Continuava sentado em cima das malas e o motorista supôs que estivesse esperando pelo ônibus. Afinal de contas, ali era o ponto final daquela linha. Não se esquecera de nada, tudo lhe veio à mente no momento em que abriu os olhos. O motorista levou uma das malas, ele carregou a outra. Algumas mães, acompanhadas de crianças pequenas, já haviam ocupado seus assentos, iam para o centro, para as lojas de departamentos. Era para lá que ele ia, não se esquecera de nada. Contaria a Maria que havia feito tudo conforme o combinado. Sentia as pernas e os braços bambos, ainda não os conseguira despertar. Sentou-se na frente, as malas no assento de trás. Não precisava ficar olhando para elas o tempo todo. Avançando em sentido norte, pararam para pegar mais mães e crianças e suas sacolas de compras. Era a pontualidade resoluta, objetiva, da hora do rush. Estavam alegres, tagarelas, festivas. Ouvia as vozes que soavam atrás dele, cada uma com um timbre peculiar, a conversa animada das mães, fundada em seu consenso difuso, de quando em quando interrompida por risadinhas e gemidos cúmplices, o alarido irrelevante das crianças, exclamações com o dedo em riste, apontando alguma coisa, listas de nomes alemães, choramingos repentinos. E ele sozinho na frente, grande e malvado demais para uma mãe, recordando as jornadas de Tottenham à Oxford Street em companhia da sua, sentado à janela, bilhetes na mão, a incontestável autoridade do cobrador e do sistema que ele representava e que tinha sua razão de ser, o anúncio do destino, o preço da passagem, o troco, a campainha soando, segurar firme até que o grande e imponente ônibus suspendesse seu sacolejo e parasse no ponto.
Desceu com todos os demais passageiros na Kurfürstendamm. Ela disse: Não vá à Eisenwarenhandlung, procure uma loja de departamentos onde ninguém se lembre de você depois. Havia uma nova, grande, do outro lado da rua. Em meio à multidão, aguardou que o guarda interrompesse o tráfego e gesticulasse, autorizando a travessia dos pedestres. Era importante não desrespeitar a lei. A loja de departamentos era nova, tudo era novo. Consultou as seções arroladas numa placa. Tinha de ir ao subsolo. Tomou a escada rolante. Na terra dos derrotados ninguém precisava descer as escadas a pé. O lugar era eficiente. Em poucos minutos tinha o que queria. A moça que o atendeu entregou o troco, disse bitte schön sem olhar para ele e virou-se para o homem a seu lado. Ele pegou o metrô na Wittenbergplatz e caminhou da Kottbusser Tor até o apartamento. Quando bateu na porta, ela gritou lá de dentro: “Wer ist da?”. “Sou eu”, respondeu em inglês. Ao abrir a porta, ela olhou para as malas que ele tinha nas mãos, depois lhe deu as costas e voltou para dentro. Seus olhos não haviam se encontrado. Não chegaram a se tocar. Ele foi atrás dela. Ela estava usando luvas de borracha e todas as janelas estavam abertas. Limpara o banheiro. A atmosfera era de faxina geral. O corpo continuava lá, debaixo do cobertor. Teve de saltar por cima dele. Sobre a mesa não havia mais nada. Via-se uma pilha de jornais velhos no chão e, dobrados em cima de uma cadeira, os seis metros de tecido emborrachado que ela havia dito que arrumaria. O apartamento estava claro e frio. Ele colocou as malas no chão, ao lado da porta do quarto. Queria entrar e deitar na cama. Ela disse: “Fiz um café”. Tomaram-no em pé. Ela não perguntou como fora a sua manhã, ele não quis saber sobre a dela. Ambos haviam cumprido suas tarefas. Ela bebeu rapidamente seu café e pôs-se a espalhar o jornal sobre a mesa, cobrindo-a com camadas de duas ou três folhas. Leonard a observava de lado, mas, quando ela se virou em sua direção, ele desviou o olhar. “E agora?”, inquiriu ela. A claridade era intensa, então ficou ainda mais acentuada. O sol aparecera e, embora não batesse diretamente na sala, a luz refletida pelas gigantescas nuvens que pairavam no céu iluminava todos os cantos, todos os detalhes: a xícara que ele tinha nas mãos, a manchete em letras góticas que jazia de ponta-cabeça na mesa, o couro preto e todo rachado dos sapatos que despontavam sob o cobertor. Se isso tudo desaparecesse de repente, ainda assim eles teriam de se esforçar muito para retornar ao ponto em que antes se encontravam. Contudo, o que estavam prestes a fazer era algo que lhes obstaria para sempre o caminho de volta. Por conseguinte — e isto parecia simples —, por conseguinte, o que iriam fazer era errado. Mas já haviam analisado a questão sob todos os ângulos, tinham passado a noite conversando sobre isso. Ela estava de costas para ele e olhava pela janela. Tirara as luvas. Mantinha as pontas dos dedos apoiadas na mesa. Aguardava que ele falasse. Ele disse seu nome. Sentia-se esgotado, porém tentou pronunciá-lo da maneira que costumavam fazer — com uma afetuosa entonação ascendente, como uma pergunta — sempre que um desejava evocar para o outro aquilo que lhes era essencial: amor, sexo, amizade, companheirismo e tudo mais. “Maria”, disse ele.
Ela reconheceu o chamado e olhou para trás. Tinha uma expressão desesperançada no rosto. Deu de ombros e ele sabia que ela tinha razão. Aquilo só tornaria as coisas mais difíceis. Ele anuiu com a cabeça, voltou-se, ajoelhou ao lado de uma das malas e abriu-a. De dentro dela tirou uma faca de cortar linóleo, uma serra e um machado, colocando-os à parte. Depois, sem remover o cobertor nem a fôrma, com Leonard do lado da cabeça e Maria do lado dos pés, ergueram Otto e levaram-no para a mesa.
18.
Desde o início, desde o momento em que colocaram as mãos nele, a coisa pareceu fadada ao fracasso. Agora que o rigor mortis se instalara, foi extremamente fácil levantá-lo. Suas pernas permaneciam esticadas e o corpo não arqueou no meio. Estava de bruços quando o pegaram, parecia uma prancha. A transformação os apanhou de surpresa. Leonard tateou em busca de um ponto de apoio embaixo dos ombros. A cabeça vergou para baixo. Sob a ação de seu próprio peso, a fôrma soltou-se do crânio e caiu em cima do pé dele. Sobrepondo-se a seu grito, Maria bradou: “Não largue agora. Falta só um pouco”. Pior que a dor do que imaginou ser talvez um dedo quebrado, era o fato de que havia algo fluindo debaixo do cobertor, proveniente do cérebro ou da boca de Otto, alguma espécie de líquido frio que estava ensopando a parte de baixo de sua calça. “Ah, meu Deus”, exclamou ele. “Então vamos logo com isso. Vou acabar vomitando.” Como a mesa não era grande o bastante, o corpo teve de ficar na diagonal. Com a parte de baixo da calça grudando nas canelas, Leonard entrou coxeando no banheiro e curvou-se sobre a privada. Não botou nada para fora. Não havia comido nada desde o Rippenchen mit Erbsenpüree da noite anterior. Ao pensar no prato, preferiu se lembrar somente de seu nome alemão. No entanto, quando olhou abaixo dos joelhos e viu a mancha de matéria cinzenta envolta em sangue e cabelos, que o tom escuro do tecido molhado realçava, sentiu uma onda de ânsia subir pelo estômago. Ao mesmo tempo, lutava para tirar a calça. Da porta do banheiro, Maria o observava. “Caiu no sapato também”, disse ele. “E aposto que aquela coisa me quebrou o pé.” Arrancou os sapatos, as meias e a calça, atirando-os embaixo da pia. Aparentemente não havia nada de errado com seu pé, salvo uma leve vermelhidão na base do dedão. “Eu faço uma massagem”, ofereceu ela. Acompanhou-o até o quarto. Ele encontrou um par de meias no guarda-roupa e uma calça amarrotada devido à estada de Otto. Suas pantufas jaziam ao lado da cama. Maria disse: “Talvez fosse melhor você colocar um dos meus aventais”. Isso lhe pareceu totalmente inapropriado. As mulheres usavam aventais para fazer tortas e assar pães. “Não precisa. Agora vai dar tudo certo.” Voltaram para a sala. O cobertor continuava no lugar, o que já era alguma coisa. No chão, no ponto onde Otto havia estado, o tapete exibia duas grandes manchas úmidas. As janelas estavam completamente abertas e não se sentia cheiro nenhum. Mas a luz era implacável. Destacava o fluido que molhara Leonard. Era esverdeado e pingava da mesa para o chão. Ficaram ali parados, relutando em dar o próximo passo. Então Maria se aproximou da cadeira onde estavam suas compras e começou a descrevê-las. Tomava fôlego antes de cada frase. Estava se esforçando para mantê-los no prumo. “Este é o tecido, como é que se diz wasserdicht?” “À prova d’água.” Pegou uma lata vermelha. “Aqui está a cola, é cola plástica, seca rápido. Eis o pincel para
espalhar a cola. Estas tesouras de costura eu comprei para recortar os pedaços de tecido.” À maneira das demonstradoras das lojas de departamentos, ia cortando um grande quadrado de tecido enquanto explicava. Esse detalhamento dos métodos dela o ajudou. Apanhou suas próprias coisas e espalhou-as em cima da mesa. Desnecessário explicar para que serviriam. “Certo”, disse ele num tom de voz alto demais. “Vamos lá. Vou começar pela perna.” Mas não se mexeu. Olhava fixamente para o cobertor. Distinguia cada fibra do tecido, a infinita repetição daquele seu motivo tão simples. “Tire o sapato e a meia antes”, aconselhou Maria. Ela havia destampado a lata e mexia a cola com uma colher de chá. Achou isso prático. Colocou a mão no tornozelo de Otto e puxou o sapato pelo salto. Saiu fácil. Não tinha cadarço. A meia, em petição de miséria, estava recoberta por uma crosta de sujeira. Arrancou-a rapidamente. O pé escurecera. Ficou feliz por se encontrar junto a uma janela aberta. Afastou o cobertor, expondo as pernas até pouco acima dos joelhos. Não queria começar sozinho. “Quero que o segure bem firme, com as duas mãos, aqui”, disse, indicando a parte superior da perna. Ela fez o que ele pediu. Agora estavam juntos, lado a lado. Ele pegou a serra. Tinha uma bela fileira de dentes e era protegida por um invólucro de papelão, preso com elástico. Ele arrancou o papelão e fitou a dobra do joelho de Otto. A calça de algodão preto era brilhosa de tão surrada. Empunhou a serra com a mão direita e com a esquerda segurou a perna pouco acima do tornozelo. A pele estava mais fria que a temperatura ambiente. Sentiu o calor fugindo-lhe da mão. “Não pare para pensar”, disse Maria. “Faça o que tem de fazer.” Tornou a buscar fôlego. “Lembre-se de que eu te amo.” Não havia como, é claro, mas era importante que estivessem juntos nisso. Precisavam de uma declaração formal. Também teria dito que a amava se não sentisse a boca tão seca. Passou a serra pela dobra do joelho de Otto. Não conseguiu completar o movimento. O pano e, embaixo dele, os tendões fibrosos travaram a ferramenta. Ergueu-a e, sem olhar para os dentes, colocou-a de novo na posição e tentou puxá-la para si. Emperrou de novo. “Não vou conseguir”, exclamou. “Não posso, não vai dar certo!” “Não faça tanta força para baixo”, disse ela. “Tem que ser com jeito. Primeiro puxe na sua direção algumas vezes. Depois pode fazer o movimento de vaivém.” Ela entendia de carpintaria. Teria feito uma prateleira melhor que a dele para o banheiro. Ele acatou a sugestão. A serra passou a deslizar suavemente. Depois os dentes travaram de novo, dessa vez no osso, e foi aí que a coisa começou para valer. Tiveram de segurar com mais força para a perna não sair do lugar. A serra produzia um rangido abafado. “Vou parar!”, exclamou ele, mas não parou. Continuou serrando. Não deveria estar varando o osso. A idéia era passar pela articulação. Tinha uma idéia vaga da coisa, derivada do frango assado dos almoços de domingo. Inclinava a serra para um lado, depois para o outro, manuseando-a com fúria, ciente de que, se parasse, nunca mais recomeçaria. Então sentiu ter rompido algo, depois ouviu novamente o rilhar da serra contra o osso. Tentava não olhar, mas a luz de abril expunha tudo. A parte superior da perna exsudava um líquido quase preto que se alastrava pela ferramenta. O cabo estava escorregadio. Transpusera o osso, só faltava a pele, porém não a conseguiria cortar sem machucar a mesa com a serra. Pegou a faca de cortar linóleo
e tentou romper a pele de um golpe só, mas ela se franziu sob a lâmina. Precisava ajudar com a mão, tinha de enfiá-la na fenda da articulação, mergulhá-la na mixórdia fria de carne escura e dilacerada, e cortar a pele com a lâmina da faca. “Ah, não!”, exclamou. “Ah, meu Deus!” E então conseguiu. Subitamente toda a parte inferior da perna tornou-se um item isolado, uma coisa envolta por um cilindro de pano, com um pé descalço. Maria estava pronta para recebê-la. Enrolou-a firmemente no quadrado de tecido à prova d’água que havia preparado. Depois passou cola nas pontas e fechou-as. Acondicionou o embrulho numa das malas. O membro amputado exsudava sem parar, cobrindo a mesa com sua secreção. O jornal estava encharcado e começava a se desintegrar. O sangue escorria pelas pernas da mesa e já tomava conta do papel espalhado pelo chão. Quando andavam, o papel grudava em seus pés, expondo o tapete. Os braços de Leonard tinham uma cor marromavermelhada uniforme, da ponta dos dedos até acima do cotovelo. Seu rosto fora atingido e coçava nos lugares onde estava secando. Havia salpicos em seus óculos. As mãos e os braços de Maria também estavam emporcalhados e seu vestido enodoado. Embora fosse uma hora tranqüila do dia, eles se falavam aos brados, como se estivessem no meio de uma tempestade. Ela disse: “Vou me lavar”. “Não adianta”, retorquiu ele. “Deixe para quando tivermos terminado.” Empunhou a serra. O cabo, antes escorregadio, estava pegajoso. Isso lhe dava mais firmeza. Apoderaram-se da perna esquerda. Maria ficou à sua direita, segurando a parte inferior do membro com ambas as mãos. Dessa vez deveria ter sido mais rápido, mas não foi. Ele começou bastante bem, mas quando chegou à metade do corte a serra entalou na articulação. Teve de pegar a ferramenta com as duas mãos. Maria precisou se esticar por trás dele, a fim de segurar também a parte superior da perna. Mesmo assim Leonard viu-se digladiando com a serra, o cadáver sacudindo de um lado para o outro numa dança frenética. Quando o cobertor caiu no chão, Leonard evitou olhar para o crânio. Sentia sua presença com o rabo do olho. Em breve teria de lidar com ele. Da cintura para baixo, do ponto onde faziam força contra a mesa, estavam completamente ensopados. Agora não importava mais. Conseguiu passar pela articulação. Chegou a vez da pele de novo e ele foi obrigado a enfiar a mão com a faca. Teria sido mais fácil, cogitou, se a carne ainda estivesse quente? O segundo pacote foi para a mala. Duas botas de borracha, lado a lado. Leonard encontrou o gim. Tomou um gole no gargalo e ofereceu-o a Maria. Ela fez que não com a cabeça. “Tem razão”, bradou ela. “Não podemos parar.” Não discutiram a questão, mas sabiam que era a vez dos braços. Começaram pelo direito, o que Leonard tentara torcer. Estava dobrado e enrijecido. Não conseguiram esticá-lo. Era difícil encontrar uma posição, um lugar de onde ele pudesse aplicar a serra sobre o ombro. Agora que a mesa e o chão, suas roupas, braços e rostos, estavam ensangüentados, não era tão ruim ficar perto do crânio. Toda a parte de trás havia sucumbido para dentro. Via-se apenas um pequeno miolo, espremido ao longo da linha das fraturas. Depois do vermelho, o cinza era moleza. Maria segurou o antebraço. Leonard iniciou o corte pela axila, rasgando a jaqueta do Exército e a camisa que havia por baixo dela. Era uma boa serra: afiada, quase leve, flexível na medida certa. No ponto em que a lâmina encontrava o cabo havia uns quatro ou cinco centímetros que ainda não tinham sido obscurecidos pelo sangue. O timbre do fabricante ficava ali, e a palavra “Solingen”. Repetia-a enquanto trabalhava. Não estavam matando ninguém. Otto era um homem morto. Solingen. O que estavam fazendo era desmontá-lo. Solingen. Ninguém dava pela falta dele.
Solingen, Solingen. Otto perdeu um braço. Solingen, Solingen. Entre um braço e outro, Leonard tomou alguns goles de gim. Era fácil, era perfeitamente razoável. Uma hora de sordidez ou cinco anos de prisão. A garrafa de gim também estava pegajosa. Havia sangue por toda parte e ele aceitava isso. Era o que tinham de fazer, era o que estavam fazendo. Solingen. Era um trabalho. Não parou depois de entregar o braço esquerdo a Maria. Segurou o colarinho da camisa de Otto por trás e puxou com força. O formato das vértebras no topo da espinha era perfeito para sustentar uma serra no lugar. Em poucos segundos varou o osso, a medula espinhal, usando o excelente apoio da base do crânio para guiar a lâmina, que agarrou só um pouco nos tendões do pescoço, na cartilagem da traquéia, e assim ele foi indo, indo, sem precisar recorrer à faca. Solingen, Solingen. A cabeça amassada de Otto despencou no chão e foi parar entre as páginas amarrotadas do Tagesspiegel e do Der Abend, exibindo um perfil em que sobressaía o nariz comprido. Seu aspecto lembrava bastante o que haviam visto dentro do armário: os olhos fechados, a palidez doentia da pele. O lábio inferior, porém, não o incomodava mais. O que restou em cima da mesa não era ninguém. Era o teatro de operações, uma cidade vista lá de cima, a qual ele tinha ordens de destruir. Solingen. Mais gim, o pegajoso Beefeater, e investir contra o bitelo, as coxas, a arremetida final, então estaria terminado, poderia voltar para casa, tomar um banho quente, missão cumprida. Maria sentara-se numa cadeira de madeira junto às malas abertas. Colocava os pedaços do exmarido no colo e, pacientemente, com atenção quase maternal, tratava de embalá-los, lacrá-los e acondicioná-los cuidadosamente um ao lado do outro. Nesse momento estava embrulhando a cabeça. Era uma boa mulher, diligente, carinhosa. Se eram capazes de fazer isso, podiam fazer qualquer coisa juntos. Quando este serviço estivesse terminado, começariam de novo. Tinham ficado noivos, retomariam a comemoração. A lâmina da serra aconchegou-se ao longo da dobra onde a nádega encontrava a perna. Desta vez não pretendia mirar na articulação. Ia passar direto pelo osso, uma peça robusta de cinco centímetros de espessura, e uma serra boa para trinchá-la. Calça, pele, gordura, carne, osso, carne, gordura, pele, calça. As duas últimas ele cortou com a faca. Esse pedaço pesava como chumbo e pingava dos dois lados quando o entregou a Maria. Suas pantufas estavam pretas e pesadas. O gim e a outra perna. Essa era a ordem das coisas, a ordem de combate: tudo duas vezes, menos a cabeça. Faltava embalar o naco enorme que sobrara na mesa, limpar tudo, lavar e esfregar a pele, a pele deles, jogar aquelas coisas fora. Tinham um sistema, poderiam fazer tudo de novo, caso fosse realmente necessário. Maria estava passando cola no pedaço de tecido com o qual envolvera a segunda coxa. Disse ela: “Tire a jaqueta dele”. Isso também foi fácil, visto não haver mais braços para estorvar. Bastou dar um puxão. Até então tudo coubera em uma mala. O tronco iria na outra. Ela acondicionou a segunda coxa e fechou a tampa da mala. Tinha uma fita métrica. Leonard pegou uma ponta e eles a estenderam ao longo do pedaço que jazia sobre a mesa. Da cova do pescoço aos cotos das pernas eram cento e dois centímetros. Ela pegou a fita métrica e ajoelhou-se junto às malas. “É grande demais”, concluiu. “Não cabe. Vai ser preciso cortar em dois.” Leonard voltou a si, emergindo de um sonho. “Não pode ser”, contestou. “Vamos medir de novo.” As medidas estavam corretas. As malas tinham noventa e sete centímetros de comprimento.
Arrancou a fita da mão dela e mediu sozinho. Devia haver um meio de reduzir a distância entre os números. “A gente dá um jeito. Faça o embrulho, depois o esprememos aí dentro.” “Não vai caber. Isto aqui é uma omoplata e a outra ponta é muito grossa. Você vai ter que cortar em dois.” Era o marido dela, ela sabia o que estava falando. Os braços e as pernas, e até mesmo a cabeça, eram extremidades que podiam ser amputadas. Mas não era certo cortar o resto. Tentou se lembrar de algum princípio, uma noção geral de decência que servisse de apoio a sua certeza instintiva. Sentia-se tão cansado. Quando fechava os olhos tinha a impressão de sair levitando pela sala. O que lhes faltava eram diretrizes, algumas normas básicas de procedimento. Era inviável, ouvia-se falando para Glass e um punhado de oficiais, obrigar a pessoa a interromper um trabalho no meio para lidar com abstrações e preceitos gerais. Essas coisas tinham de ser pensadas com antecedência, deixando a pessoa livre para se concentrar no trabalho em si. Maria tornara a se sentar. O vestido ensopado pendia em seu colo. “Acabe logo com isso”, disse ela. “Depois podemos nos livrar dessa imundície.” Havia encontrado o maço com os três cigarros dentro. Acendeu um, deu uma tragada e o passou para Leonard. Ele não se importou com as nódoas vermelhas espalhadas pelo papel, sinceramente não se importou. Mas quando foi devolvê-lo, o cigarro estava grudado em seus dedos. “Pode ficar”, disse ela, “e vamos com isso.” Pouco depois teve de mudar os dedos de lugar para não se queimar. O papel veio junto, fazendo o tabaco transbordar. Deixou cair tudo no chão e pisou em cima. Empunhou a serra e puxou a camisa de Otto para fora, expondo as costas pouco acima do cós da calça. Bem em cima da espinha havia uma verruga. Sentiu-se melindrado de serrá-la ao meio, e posicionou a lâmina um centímetro mais para baixo. O corte devia atravessar toda a largura das costas, e novamente a vértebra o ajudava a se manter na direção certa. Passou com facilidade pelo osso. Entretanto, uns dois ou três centímetros mais adiante, começou a perceber que não estava exatamente varando as coisas, e sim as empurrando para um lado. De todo modo, seguiu em frente. Chegara à cavidade que continha tudo aquilo que não queria ver. Mantinha a cabeça erguida de maneira a não ter de olhar para o corte. Olhava na direção de Maria. Ela continuava ali sentada, sorumbática, exausta, decidida a não assistir a essa última manobra. Tinha os olhos voltados para a janela aberta e para as nuvens imensas que avançavam sobre o pátio do edifício. Leonard ouviu um som glutinoso que o fez pensar numa gelatina sendo desenformada. As coisas estavam se mexendo lá dentro, algo havia cedido e rolado sobre alguma outra coisa. Chegara ao fundo e via-se diante do velho problema. Não conseguiria cortar a pele da barriga sem machucar a madeira com a serra. A mesa também era boa: sólida, toda feita de olmo. E dessa vez ele não ia pôr a mão. Optou por virar a carcaça noventa graus e puxar a metade superior para si, de modo que o corte ficasse alinhado com a borda da mesa. Devia ter pedido ajuda a Maria. Ela devia ter previsto a dificuldade e vindo em seu socorro. Ele sustentava a metade de cima do tronco com ambas as mãos. A metade de baixo permanecia apoiada na mesa. De que maneira poderia pegar a faca para cortar a pele da barriga? Sentia-se cansado demais para parar, ainda que soubesse que estava tentando fazer o impossível. Sustentou o peso com o joelho esquerdo e esticou-se para a frente a fim de pegar a faca que estava em cima da mesa. Podia ter funcionado. Ele teria sido capaz de sustentar o tronco com o joelho e uma das mãos, enquanto enfiava por baixo a mão livre para cortar a pele. Mas estava muito cansado para se
equilibrar numa perna só. Faltava pouco para alcançar a faca, quando sentiu que ia perder o equilíbrio. Teve de abaixar a perna esquerda. Tentou trazer a mão livre de volta a tempo de impedir o desastre. Porém a coisa toda lhe fugiu ao controle. A parte superior do tronco oscilou sobre a dobradiça de pele e vergou para baixo, expondo o pandemônio do aparelho digestivo de Otto e puxando a parte inferior consigo. Ambas tombaram no chão e vomitaram seu conteúdo no tapete. Antes de sair da sala, houve um momento em que Leonard subitamente se deu conta da distância que eles haviam percorrido, da trajetória que os havia conduzido de sua bem-sucedida festinha de noivado àquilo, de como ao longo de todo o caminho cada passo dado parecera perfeitamente lógico e consistente com o anterior, e de que ninguém tinha culpa de nada. Antes de sair correndo em direção ao banheiro, teve uma visão de vermelhos hepáticos, tubos reluzentes e irregulares num tom azulado de clara de ovo cozido, e uma coisa púrpura e preta, tudo isso brilhando lividamente com o ultraje da privacidade violada, dos segredos expostos à luz do dia. Apesar das janelas abertas, a sala foi invadida por um bafio sufocante de ar embolorado, que por sua vez servia de meio à propagação de outros odores: a fetidez adocicada e telúrica de merda sulfurosa e o aroma de Sauerkraut. A infâmia, Leonard teve tempo de pensar ao contornar apressadamente as duas metades ainda unidas do tronco emborcado, era que esse troço todo também estava dentro dele. Como se para comprovar isso, agarrou-se à borda da privada e expeliu um bocado de bile verde. Depois enxaguou a boca na pia. O contato com a água limpa o fez se lembrar de que havia outra vida. Não fazia mal que ainda não houvesse terminado, precisava se limpar e tinha que ser agora. Chutou as pantufas para longe, arrancou a camisa e a calça, acrescentou-as à pilha debaixo da pia e entrou na banheira. Agachou-se e lavou-se com a água que escorria das torneiras abertas. Não era fácil remover o sangue seco com a água gelada. A pedra-pomes mostrou ser o instrumento mais eficaz, e ele passou um bom tempo — meia hora, talvez o dobro disso — esfregando a pele sem pensar em mais nada. Quando acabou, suas mãos, braços e faces achavamse em carne viva e ele tremia de frio. As roupas limpas estavam no quarto. Eles se esquecera de tudo, a coisa toda lhe fugira da cabeça durante o período de sua ablução, agora teria de cruzar a sala e passar com os pés limpos e descalços pelo trabalho que deixara inacabado. No entanto, ao chegar à sala com a toalha na cintura e ainda pingando, Maria estava levando o maior dos dois embrulhos lacrados para uma das malas. Ela falou como se ele houvesse estado o tempo todo lá e tivesse acabado de fazer uma pergunta. “Ficou assim. O tronco inferior, um braço, uma perna e a cabeça vão nessa aí. Nesta outra vai o tronco superior, um braço e uma perna.” Ao pé da mesa via-se uma pá de lixo e um balde. O resto estava ali dentro. Ele a ajudou a fechar as malas e, depois, com ela sentada em cima, apertou as cintas de lona o máximo que pôde. Arrastou as malas até a parede. Agora tudo se resumia àquela bagagem e a certo grau de sujeira residual que não seria difícil limpar. Reparou que no fogão havia um caldeirão e algumas panelas nos quais ela estava esquentando a água para se lavar. Foi para o quarto com a intenção de se vestir e tirar um cochilo de dez minutos enquanto ela permanecesse no banheiro. Perdeu tempo procurando os sapatos antes de se lembrar onde os havia deixado. Deitou-se e fechou os olhos. Dali a pouco ela apareceu, limpa, de penhoar, vasculhando o guarda-roupa em busca de roupas
apropriadas. “Não vá dormir”, disse ela. “Se pegar no sono, não acordará a tempo.” É claro que ela tinha razão. Leonard sentou-se, encontrou os óculos e ficou a observá-la. Maria sempre lhe dava as costas ao se vestir, um aspecto de seu recato que ele costumava achar enternecedor, chegando mesmo a excitá-lo. Dessa vez, considerando-se o que haviam vivenciado juntos e o quanto estavam comprometidos um com o outro, a atitude pareceu-lhe irritante. Levantou-se da cama, espremeu-se para passar sem tocar nela e foi até ao banheiro. Pegou os sapatos que estavam sob a pilha de roupas ensangüentadas. Não foi nem um pouco difícil limpá-los com um paninho de banho. Calçou-os e atirou o paninho debaixo da pia. Então se pôs a arrumar a sala. Maria trouxera algumas sacolas de papel. Estava enfiando as folhas de jornal dentro delas, quando ela veio do quarto e juntou-se a ele. Enrolaram o tapete e o colocaram perto da porta. Teriam de se desfazer dele mais tarde. Para lavar a mesa e o chão, precisavam do balde. Maria se encarregou de esvaziá-lo, virando a cabeça para o lado ao despejar seu conteúdo na maior panela que tinha na cozinha. Leonard foi buscar uma escova de esfrega e espargia o sabão em pó sobre a mesa, quando ela disse: “É burrice ficarmos os dois fazendo isso. Por que não leva as malas agora? Pode deixar que eu termino aqui”. Não se tratava apenas de ela saber que cuidaria da mesa e do chão melhor do que ele. Ela o queria fora dali, ansiava por ficar só. E, para ele, a perspectiva de sair daquele lugar, de ir embora sozinho, mesmo carregando uma bagagem pesada, pareceu atraente. Soava a liberdade. A vontade que tinha de se afastar dela não era menos intensa que o desejo que ela sentia de que ele partisse. E isso era tão deprimente quanto simples. Pois não conseguiam mais se tocar, não eram capazes nem mesmo de olhar um para o outro. Até os gestos mais banais — pegar na mão dela, por exemplo — repugnavam-no. Tudo entre eles, os mínimos detalhes, todo e qualquer contato, arranhava e irritava, como areia nos olhos. Leonard viu as ferramentas. Ali estava o machado, que não fora usado. Tentou recordar por que pensara que ele seria necessário. A imaginação era ainda mais brutal que a vida. Ele disse: “Não esqueça de limpar a faca e a serra, e examine bem todos os dentes da lâmina”. “Não vou esquecer.” Vestiu o casaco enquanto ela abria a porta da frente. Postou-se entre as malas, tomou coragem, suspendeu-as e levou-as numa esticada só até o patamar. Apoiou-as no chão e virou-se. Viu-a parada junto ao batente, a mão na porta, pronta para fechá-la. Se houvesse sentido uma fração que fosse de impulso, teria se achegado a ela, beijado-a no rosto, tocado-lhe o braço ou a mão. Mas o que pairava no ar entre eles era asco, e era impossível disfarçá-lo. “Não demoro”, foi só o que conseguiu dizer, e mesmo isso soou como uma promessa extravagante. “Tudo bem”, respondeu ela, fechando a porta.
19.
Leonard permaneceu dois minutos parado entre as malas, no topo da escadaria. Depois que desse início à próxima etapa não teria tempo para reflexões. Agora, porém, alguns pensamentos vinham-lhe à cabeça. Para além do cansaço estonteante, tinha consciência do prazer que sentia em partir. Se ia se livrar de Otto, em certo sentido também iria se livrar de Maria. E ela dele. Isso tudo haveria de fazê-lo sofrer, mas por ora não o atingia. Pegou as malas e começou a descer. Deixando-as bater nos degraus, conseguia lidar com as duas ao mesmo tempo. Em todos os andares fazia uma pausa para recuperar o fôlego. Um homem recém-chegado do trabalho vinha subindo e, ao cruzar com ele, cumprimentou-o com cabeça. Numa de suas paradas para descansar foi ultrapassado por dois meninos. Não havia nada de estranho com ele. Berlim estava repleta de gente carregando bagagem pesada. À medida que descia e a distância em relação ao apartamento de Maria aumentava e ele se via cada vez mais completamente sozinho, suas dores retornavam. A dor no ombro transformou-se em intenso latejamento muscular. Não precisava mais tocar a orelha para que ela o incomodasse. O esforço de descer as escadas carregando um peso que talvez superasse os setenta quilos era fonte de novos estragos à sua virilha. E agora o golpe de despedida de Otto: pontadas que eram como choques elétricos, faíscas que partiam da base do dedão e se espalhavam até chegar ao tornozelo. Continuou descendo e as dores só faziam aumentar. Ao chegar lá embaixo, passou com uma mala de cada vez pela porta que dava para o pátio e parou para um descanso mais prolongado. Sentia-se em carne viva, como se o houvessem submetido a uma fervura ou lhe tivessem arrancado uma camada de pele. A solidez das coisas o oprimia. O atrito da sola do sapato com pedrinhas soltas no chão dava-lhe engulhos no estômago. A sujeira encardida da parede em torno do interruptor de luz da escada, a própria substância maciça da parede, o despropósito daqueles tijolos todos, essas coisas o afligiam, pesavam-lhe nos ombros como uma doença. Tinha fome? A sugestão de pegar alguns nacos do mundo sólido, fazê-los passar por um buraco em sua cabeça e espremê-los entre as tripas era abominável. Ele era uma chaga rósea e seca. Estava encostado ao muro do pátio, observando alguns garotos jogarem futebol. Onde quer que a bola batesse e onde quer que os sapatos derrapassem em movimentos bruscos, havia fricções que o atormentavam, fazendo seus sentidos faltos de lubrificação rangerem de forma exasperante. As pálpebras irritavam-lhe os olhos quando as fechava. No nível do chão e a céu aberto, o pátio lhe permitiria ensaiar como faria para carregar as malas. A verdade é que ninguém andava por aí com malas tão pesadas como essas. Ergueu-as e pôs-se a caminho com passos hesitantes. Percorreu dez metros antes de ter de colocá-las no chão. Não podia se dar ao luxo de andar cambaleando. Tinha de se mover como qualquer outro viajante. Não podia se permitir tremer, não devia examinar as mãos com demasiada freqüência. Precisava avançar mais que dez metros. Determinou a si mesmo um mínimo de vinte e cinco passos. Atravessou o pátio em três etapas e chegou à calçada. Não se viam muitos transeuntes. Se alguém oferecesse ajuda, teria de recusar; devia estar preparado para ser rude. Teria de dar a
impressão de que não precisava de auxílio, assim ninguém se ofereceria para ajudar. Deu início aos vinte e cinco passos. Contar era uma maneira de resistir à agonia do peso. Precisava se controlar para não contar em voz alta. Apoiou as malas no chão e fingiu consultar o relógio. Quinze para as seis. O tráfego da hora do rush ainda não invadira a Adalbertstrasse. Tinha de chegar à próxima esquina. Aguardou até que as pessoas que o cercavam fossem substituídas por outras, então suspendeu sua carga e precipitou-se para a frente. Embora tivesse completado os vinte e cinco passos em todas as arremetidas anteriores, dessa vez não chegaria a vinte. Seus dedos distenderam-se, impotentes, e as malas despencaram no chão. Uma delas tombou de lado. No momento em que se curvou para reerguê-la, obstruindo o caminho, uma senhora que ia passando com seu cachorro desviou dele e dirigiu-lhe um resmungo cacarejante. Talvez estivesse falando em nome da rua inteira. O cão, um vira-lata com ar de valente, interessou-se pela mala que Leonard colocara em pé. Passou por ela farejando-a, balançando o rabo, depois deu a volta e, com súbita avidez, pôs-se a focinhar sofregamente o outro lado. Estava preso à guia, mas a dona era dessas que não gostam de contrariar seus bichos de estimação. Permaneceu ali parada, com a guia frouxa na mão, aguardando que o interesse do animal arrefecesse. Apesar de estar a meio metro de Leonard, não olhou para ele. Só falava com o cachorro, que a essa altura farejava freneticamente. Ele sabia. “Komm schon, mein kleiner Liebling. Ist doch nur ein Koffer.” É só uma mala. Leonard também se mostrou complacente com o animal. Precisava de uma desculpa para ficar ali parado com sua bagagem. Só que agora o cão rosnava e gania. Estava tentando abocanhar o canto da mala. “Gnädige Frau”, disse Leonard, “por favor, segure o seu cachorro.” Em vez de puxar a guia, a mulher limitou-se a reforçar a torrente de meiguices. “Seu bobinho, quem você pensa que é? A bagagem é desse senhor, não é sua, não. Vamos, minha salsichinha...” Uma versão imperturbável e ensimesmada de Leonard especulava se, para uma pessoa que precisasse se livrar de algo, poderia haver solução melhor do que um cachorro faminto. Uma matilha daria conta do serviço. O animal encontrara um ponto para morder. Tinha os dentes cravados no canto da mala. Mordia, rosnava e balançava o rabo. Por fim a mulher se dirigiu a Leonard. “O senhor deve estar levando comida aí dentro. Lingüiça, talvez.” Havia um tom acusatório nisso. Pensava que ele era um contrabandista trazendo comida barata do Leste. “Essa mala custou uma fortuna”, disse ele. “Se seu cachorro causar algum estrago, terá de arcar com isso, gnädige Frau.” Olhou em volta, como se pretendesse pedir ajuda a um policial. A mulher ficou ofendida. Deu um tranco selvagem na guia e saiu andando. O cão soltou um ganido e foi atrás dela. Depois pareceu se arrepender de ter obedecido. Sua dona ia se afastando e ele forcejava para voltar. Através das névoas da memória da espécie, o animal reconhecia a chance de sua vida, a oportunidade de devorar impunemente um ser humano e vingar seus ancestrais lobos por dez mil anos de submissão. Um minuto depois ele continuava a olhar para trás, sinalizando seu desejo com puxões na guia. A mulher seguia em frente, caminhando com empáfia, nem um pouco disposta a lhe fazer concessões. Havia marcas de dentes e saliva na mala, mas o tecido não estava rasgado. Leonard postou-se entre seus fardos e suspendeu-os. Deu quinze passos e teve de parar. A reprovação da mulher permanecia no ar, infectava os olhares de outros passantes. O que poderia haver naquelas malas que as fazia tão pesadas? Por que ele não arrumara um amigo que o ajudasse? Devia ser coisa
ilegal, só podia ser contrabando. Por que é que ele tinha um aspecto tão desarvorado, esse sujeito com as malas? Por que não havia feito a barba? Não demoraria muito, acabaria chamando a atenção de algum Polizei de uniforme verde. Estavam sempre de olho em eventuais problemas. Nesta cidade era assim. Tinham poderes ilimitados, esses policiais alemães. Se dissessem para ele abrir as malas não teria como se recusar a fazê-lo. Não podia se dar ao luxo de ser visto ali parado. Decidiu-se por esforços frenéticos, pequenos tiros de dez ou doze passos. Tentou transformar o ricto trêmulo do esforço no sorriso de um viajante respeitável, recém-chegado da estação ferroviária, que não demandasse vigilância ou auxílio. Entre uma arremetida e outra, descansava o mínimo possível. Sempre que parava, olhava em volta, a fim de dar a impressão de que estava perdido ou de que procurava a casa certa. Ao se aproximar da estação Kottbusser Tor do metrô, descansou as malas no meio-fio e sentou em cima delas. Queria tratar da dor que sentia no pé. Precisava tirar o sapato. Porém seu peso fez com que as malas arqueassem desagradavelmente e ele se levantou na mesma hora. Se pudesse tirar um cochilo de dez ou mesmo cinco minutos, pensou, conseguiria lidar com a bagagem sem tanto espalhafato. Estava perto da Eckladen onde ele e Maria às vezes compravam as coisas de que necessitavam no dia-a-dia. Recolhendo seus engradados de verduras e frutas, o dono avistou Leonard e acenou. “Saindo de férias?” Leonard balançou afirmativamente a cabeça e ao mesmo tempo disse: “Não, não, ainda não”. Depois, em sua confusão, acrescentou em inglês: “São coisas do trabalho”, afirmação que imediatamente desejou retratar. Como se sairia se tivesse de responder às perguntas de rotina de um Polizei curioso? Permaneceu junto às malas, observando o tráfego. Objetos passavam pela periferia de sua visão: uma caixa de correio inglesa, um veado de galhada proeminente, uma luminária de mesa. Se tentava mirá-los de frente, sumiam no ar. Seus sonhos já não esperavam por ele para começar. Precisava virar a cabeça para dispersar cada nova aparição que surgia. Não eram nada sinistras. Bananas giravam sobre si mesmas, uma lata de biscoitos, em cuja tampa via-se uma casinha de sapê, abria sozinha. Como iria se concentrar se tinha de ficar virando a cabeça para espantar essas coisas? Ousaria deixá-las onde estavam? Havia um plano formulado fazia tanto tempo que ele já duvidava de sua validade. Mas era o único de que dispunha, precisava levá-lo adiante. E, contudo, sentia as comichões de uma idéia amena e agradável. Começava a escurecer, os carros já circulavam com os faróis acesos, o comércio fechava as portas, as pessoas voltavam para casa. Acima dele, pendendo instavelmente de um muro caindo aos pedaços, uma das lâmpadas da iluminação pública acendeu com um estalido. Alguns garotos passaram empurrando um carrinho de bebê. O táxi que ele estivera procurando aproximou-se do meio-fio. Leonard nem havia feito sinal. O motorista tinha visto suas malas. Apesar do crepúsculo, adivinhara seu peso implausível. Saltou do carro e abriu o porta-malas. Era um velho Mercedes a diesel. Leonard pensou que seria capaz de lançar uma das malas para dentro antes que o taxista pusesse as mãos nela. Mas acabaram por suspendê-la juntos. “São livros”, explicou Leonard. O taxista encolheu os ombros. Não era da sua conta. Colocaram a outra mala no banco de trás. Leonard sentou na frente e disse que queria ir para a estação Zoo. O ar quente estava ligado, o assento era enorme e lustroso. Aquela idéia agradável
cutucava-o de novo. Bastava pronunciar as palavras e estaria lá. No entanto, nem sequer percebeu quando o motorista arrancou. Ao acordar, o táxi já se achava estacionado, as malas o aguardavam uma ao lado da outra na calçada e sua porta estava aberta. Provavelmente o taxista o sacudira. Confuso, Leonard exagerou na gorjeta. O sujeito tocou a pala de seu boné e saiu andando em direção aos outros motoristas reunidos no ponto de táxi da estação. Leonard deu-lhes as costas, sabendo que o observavam. Foi por causa deles que empreendeu o esforço de carregar as malas sem claudicar por dez metros, até chegar às altas portas duplas que davam para o saguão da estação. Tão longo entrou, descansou-as no chão. Sentiu-se mais seguro. Ali perto uma dúzia de soldados ingleses aguardava em fila, também empunhando valises do Exército. Todas as lojas e restaurantes estavam abertos, e havia uma azáfama residual de gente recém-saída do trabalho que se dirigia à plataforma de linhas urbanas no pavimento superior da estação. Acolá de uma loja de lingerie e de uma banca de revistas, havia uma seta indicando o caminho para o guarda-volumes. Sentia-se por toda parte o cheiro de charuto e café forte do bem-estar alemão. O piso era liso e encerado, de modo que ele podia arrastar as malas enquanto caminhava. Passou por algumas bancas de frutas, um restaurante, uma loja de suvenires. Que alegria, que tremendo sucesso! Enfim era um autêntico viajante, absolutamente inconspícuo, um viajante que, sobretudo, não teria de carregar sua bagagem até os trens no andar de cima. O guarda-volumes ficava num dos túneis que partiam do saguão principal. Era uma área circular com armários recém-instalados, dispostos ao longo das paredes que davam para o balcão, onde dois homens de uniforme estavam prontos para receber bolsas e sacolas e guardálas nas prateleiras atrás deles. Quando Leonard chegou, duas ou três pessoas aguardavam para pegar ou deixar suas bagagens. Ele levou as malas para o mais longe possível do balcão e encontrou dois armários desocupados no nível do chão. Movia-se com sobriedade, alinhando as malas, aprumando o corpo para investigar os bolsos à procura das moedas que trouxera consigo. Não estava com pressa. Tinha um punhado de moedas de dez fênigues. Abriu um armário e empurrou uma das malas com o joelho. Nada feito. Enfiou as moedas no bolso e empurrou com mais força. Deu uma espiadela por cima do ombro. Não havia mais ninguém no balcão. Os dois homens conversavam e olhavam em sua direção. Curvou-se para verificar o que estaria obstruindo a passagem. O compartimento era alguns centímetros mais estreito que a mala. Sem muita esperança, tentou forçá-la para dentro, depois desistiu. Se não estivesse tão cansado talvez houvesse tomado a decisão certa. Ao se levantar, percebeu que um dos funcionários do guardavolumes, um sujeito de barba grisalha, gesticulava para que ele se aproximasse. Era o desdobramento lógico. Se sua bagagem não cabe no armário, leve-a até o balcão. Mas ele não tinha se preparado para isso, não estava no plano. Seria a coisa certa a fazer? Indagariam o motivo de suas malas estarem tão pesadas? Que autoridade o uniforme lhes conferia? Lembrarse-iam de seu rosto? Com os nós dos dedos apoiados no balcão de latão, o sujeito de barba esperava por Leonard. Não era correto que um funcionário que na verdade não passava de um carregador se vestisse tal qual um almirante. O importante era não se deixar intimidar. Leonard fingiu consultar o relógio e suspendeu as malas. Tentou se afastar rapidamente. Seguiu pelo único caminho que não o levaria para mais perto do balcão. Contava ouvir um grito, o som de sapatos correndo atrás dele. Avançou por um corredor que ia afunilando e terminava num par de portas duplas. Não parou uma vez sequer até chegar lá. Depois de passar de costas pelas portas, viu-se numa ruazinha
tranqüila. Encostou as malas no muro e sentou na calçada. Não tinha clareza sobre o que faria a seguir. Precisava descansar o pé machucado. Se o almirante tivesse vindo atrás dele, teria se entregado com prazer. O que lhe parecia claro, agora que estava sentado, é que devia traçar um novo plano. Seus pensamentos esvaíam-se num fluxo caudaloso. Eram a secreção de um órgão sobre o qual ele não tinha controle nenhum. Conseguia avaliar o produto, mas não suscitá-lo. Podia repetir a tentativa de espremer as malas para ver se elas entravam nos armários da estação. Podia entregá-las ao almirante. Podia deixá-las ali mesmo, na rua. Simplesmente ir embora. Será que de fato necessitavam dos sete dias de prazo que o guarda-volumes concedia? Foi então que aquela idéia aprazível retornou. Podia voltar para casa. Podia trancar a porta, tomar um banho, permanecer a salvo entre suas próprias coisas, dormir por algumas horas em sua própria cama, e então, uma vez recuperado, elaborar um novo plano e colocá-lo em ação, barbeado, revigorado, com roupas limpas, acima de qualquer suspeita. Pensou em sua casa. Os cômodos amplos como campinas, o excelente encanamento, a solidão. Ficou ali, fantasiando e cochilando até que finalmente se pôs de pé. A maneira mais rápida de encontrar um táxi era retornar por dentro da estação, passando pelo almirante. Todavia resolveu dar a volta por fora. Sua virilha doía mais que o pé. Suas mãos estavam ficando esfoladas. Levou vinte minutos para chegar ao outro lado. Fazia longas pausas, sem ser observado por ninguém. Encontrou um táxi no ponto da estação, outro daqueles Mercedes grandes e velhos, mas dessa vez não se deu o trabalho de tentar erguer as malas para colocá-las no carro e tampouco se preocupou em oferecer justificativas. Desculpar-se pelo peso delas decerto era uma confissão de culpa. Deixou uma das malas na calçada, em frente ao número 26, e carregou a outra com as duas mãos até a porta do elevador. Quando voltou à rua, a mala continuava lá, coisa que não o surpreendeu menos do que se ela houvesse desaparecido. De agora em diante, como faria para saber o que constituía uma surpresa? O elevador suportou o peso com tranqüilidade. Ele abriu a porta do apartamento e depositou as malas no hall. Dali percebeu que as luzes da sala de estar estavam acesas e que havia música no ar. Foi em sua direção. Abriu a porta da sala e entrou numa festa. Viu drinques, tigelas de amendoim, cinzeiros cheios, almofadas amarfanhadas e o rádio sintonizado na Voz da América. Os convidados haviam partido. Quando desligou o rádio, um silêncio abrupto caiu sobre a sala. Sentou-se na cadeira mais próxima. Fora deixado para trás. Os amigos, o velho Leonard e sua noiva com aquela farfalhante saia branca haviam se ido, e as malas eram pesadas demais, os armários muito pequenos, o almirante hostil, e suas mãos, a orelha, o ombro, os testículos e o pé latejavam em uníssono. Foi ao banheiro e bebeu da água da torneira por um longo tempo. Depois se viu no quarto, deitado de costas sob as cobertas, olhando fixamente para o teto. A luz acesa do hall e a porta entreaberta do quarto proporcionavam-lhe uma escuridão na medida certa. Quando fechava os olhos, um cansaço nauseante o sufocava. Para se livrar da sensação de afogamento precisava fazer um esforço enorme e olhar novamente para o teto. Seus olhos não estavam pesados. Enquanto os mantivesse abertos conseguiria ficar acordado. Tentava não pensar. Sentia o corpo todo dolorido. Não havia ninguém para cuidar dele. Concentrando-se na respiração, conseguia impedir que os pensamentos lhe invadissem a cabeça. Talvez tenha passado uma hora dessa maneira, num transe superficial, quase um cochilo. Então o telefone tocou e ele, ainda sonolento, saiu correndo para atender. Atravessou o hall
olhando de soslaio para as malas que jaziam à sua esquerda, junto à porta, e entrou na sala de estar sem acender a luz. O aparelho estava no parapeito da janela. Tirou o fone do gancho de um golpe, contando ouvir a voz de Maria ou, quem sabe, a de Glass. Era um homem, cuja frase inicial, pronunciada em tom suave, escapou-lhe por completo. Tinha algo a ver com uma fábrica de troles. Em seguida a voz disse: “Estou ligando para falar com o senhor sobre os preparativos do dia dez de maio”. Era engano, mas Leonard não queria dispensar a voz. Tinha um sotaque agradável e um tom competente e gentil. Respondeu: “Claro, pois não”. “Pediram que eu ligasse para saber exatamente o que o senhor deseja.” Foi o uso do senhor, denotando um respeito espontâneo, másculo, que cativou Leonard. Quem quer que fosse o sujeito, ficou com a impressão de que ele talvez pudesse ajudá-lo. Parecia ser o tipo de pessoa capaz de levar aquelas malas embora sem fazer perguntas. Precisava dar um jeito de manter a conversa em andamento. Leonard disse: “Sei... E o que é que você sugere?”. E a voz: “Bom, eu poderia começar do lado de fora do prédio, enquanto todos ainda estivessem sentados, e ir me aproximando aos poucos. O senhor percebe a idéia? O pessoal está lá, conversando, bebendo, apenas um ou dois mais atentos ouvem alguma coisa ao longe, vou chegando cada vez mais perto até que todos começam a escutar. Aí eu apareço”. “Entendi”, disse Leonard. Pensou que talvez pudesse confiar nesse homem. Era uma questão de aguardar uma brecha. “Se o senhor não se importar, posso escolher o repertório. Penso em incluir algumas reels e alguns laments. O senhor sabe como é, depois de uns drinques, não há nada como um lament.” “Isso é verdade”, disse Leonard, sentindo ser essa a sua chance. “Eu às vezes fico muito triste.” “Queira desculpar, mas não entendi.” Se ao menos aquela voz afável perguntasse por quê. Leonard disse: “Às vezes as coisas ficam pesadas demais para mim”. A voz hesitou e a seguir disse: “Aqui em Berlim estamos muito longe dos nossos e a saudade aperta mesmo, para todos nós”. Sobreveio nova pausa e então: “O sargento Steele me disse que o senhor precisaria de mim por uma hora. É isso mesmo?”. Foi desse modo que o tocador de gaita-de-foles do Scots Greys, o escocês McTaggart, foi identificado. Leonard terminou de acertar os detalhes o mais rápido que pôde. Deixou o fone fora do gancho e voltou para a cama. Ao passar pelo hall, apagou a luz. A conversa o ajudara a recobrar as forças. A agitação associada ao cansaço abrandara e foi mais fácil adormecer. Acordou algumas horas mais tarde, completamente revigorado. Pelo silêncio, supôs que fossem duas ou três da madrugada. Sentou-se na cama. Compreendeu que se sentia melhor porque havia acordado com uma solução simples para o seu problema. Havia sucumbido às dificuldades quando, na realidade, bastava raciocinar com clareza e agir com determinação. Daria cabo daquilo enquanto a idéia ainda estivesse fresca na cabeça. Depois voltaria a dormir e acordaria com a questão resolvida. Saiu do quarto e foi até o hall. Nunca o lugar lhe parecera tão silencioso. Não se deu o trabalho de acender a luz. A lua estava cheia o bastante para iluminar o ambiente com uma luz pálida, embora ele não entendesse muito bem como o luar fazia para penetrar ali. Dirigiu-se à cozinha e encontrou uma faca afiada. Voltou para o hall, ajoelhou-se ao lado das malas e desafivelou as cintas de ambas. Depois abriu uma delas. Os pedaços continuavam no lugar,
exatamente como Maria os havia acondicionado. Tirou um deles, abriu o tecido à prova d’água com a faca e, com todo o cuidado, colocou um braço sobre o tapete. Não estava cheirando mal, ainda não era tarde demais. Afastou o invólucro para um lado e então se pôs a desembrulhar uma perna, uma coxa e o peito. Ficou pasmo de ver tão pouco sangue. Além do mais, o tapete era vermelho. Ajeitou os pedaços em cima do tapete, colocando-os em suas devidas posições. Uma forma humana ia se recompondo. Leonard abriu a segunda mala e desembrulhou o tronco inferior e os membros. Viu-se então diante de um corpo sem cabeça que jazia de costas no chão. A cabeça estava em suas mãos. Virou-a e observou, através do tecido, o perfil do nariz e os traços imprecisos de um rosto. Usava a ponta da faca para abrir o lacre de cola quando distinguiu algo que chamou sua atenção. Tinha apoiado a pesada cabeça no chão, mas não conseguia mais mover a faca. Não era a perspectiva de olhar para o rosto de Otto. Tampouco se tratava da figura completa estendida no tapete junto dele. O que ele havia visto fora a parede do quarto e sua cama. Esforçara-se para abrir uma fresta mínima nas pálpebras e divisara a forma de seu próprio corpo sob as cobertas. Durante dois segundos ouvira o rumor do tráfego na rua lá fora, os últimos resquícios do trânsito noturno, e vislumbrara seu próprio corpo imóvel na cama. Então seus olhos se fecharam e ele estava de volta ao hall, com a faca na mão, cutucando o tecido à prova d’água. Atormentou-o saber que aquilo que parecia tão real não passava de um sonho. Significava que qualquer coisa podia suceder. Não havia regras. Estava recolocando os pedaços de Otto no lugar, desfazendo o trabalho executado ao longo do dia. Retirou uma camada de tecido emborrachado e ali estava uma das laterais da cabeça, com a extremidade superior da orelha visível. Precisava se obrigar a parar, pensou, tinha de acordar antes que Otto ressuscitasse. Com esforço, tornou a abrir os olhos. Avistou um pedaço da mão e a forma de seus pés sob o cobertor. Se conseguisse mover uma parte que fosse de si mesmo, ou produzir um som, o mais ínfimo dos sons, seria capaz de voltar a si. Mas o corpo que ele ocupava era um objeto inerte. Tentou mexer o dedão do pé. Ouviu uma motocicleta na rua. Se alguém entrasse no quarto e o tocasse. Tentou gritar. Não conseguia desunir os lábios nem encher os pulmões. Seus olhos ficaram pesados e ele se viu mais uma vez no hall. Por que o tecido permanecia grudado à lateral do rosto de Otto? A culpa era da mordida, claro, o sangue que fluíra da bochecha havia coagulado sobre o pano. Essa era somente uma das razões pelas quais Otto o castigaria. Leonard puxou o tecido, que se soltou com um chiado áspero. O restante saiu com facilidade. O invólucro caiu no chão e a cabeça emergiu em suas mãos. Os olhos, com as extremidades avermelhadas de bêbado, fitavam-no, esperando. Tudo se resumia a levar a cabeça até o pescoço decepado, então a coisa poderia recomeçar. Devia ter mantido os pedaços separados, mas agora era tarde demais. Antes mesmo de ele colocar a cabeça no lugar, as mãos já se preparavam para pegar a faca. Otto sentou. Viu as malas vazias e tinha a faca na mão. Leonard ajoelhou-se diante dele e inclinou a cabeça para trás, a fim de lhe oferecer a garganta. Otto daria cabo do serviço com presteza. Ele próprio teria de colocar as coisas na mala. Levaria Leonard para a estação Zoo. Otto era um berlinense, já havia tomado muitos pifões com seu amigo almirante. Ali estava a parede do quarto de novo, o cobertor, a barra do lençol, o travesseiro. Seu corpo pesava como chumbo. Otto jamais conseguiria carregálo sozinho. McTaggart, o tocador de gaita-de-foles, teria de ajudá-lo. Sem muito ânimo, Leonard tentou gritar. Era melhor tratar de conseguir. Ouviu o ar passando entre seus dentes. Fez força para dobrar a perna. Seus olhos estavam se fechando novamente e ele ia morrer. Sua cabeça se
mexeu, virou alguns centímetros para o lado. Quando sua face tocou no travesseiro, o contato desobstruiu todas as suas sensações táteis e ele sentiu o peso do cobertor sobre o pé. Tinha os olhos abertos e conseguia mexer a mão. Podia gritar. Sentou-se na cama e esticou o braço na direção do interruptor de luz. Mesmo com a luz acesa, o sonho continuava lá, aguardando o seu retorno. Deu um tapa no rosto e levantou-se. Sentia as pernas bambas, os olhos teimavam em fechar. Foi até o banheiro e jogou um pouco de água na cara. Ao sair, acendeu a luz do hall. As malas jaziam junto à porta, fechadas. Não podia se permitir adormecer novamente. Passou o resto da noite sentado na cama, com os joelhos flexionados, a luz do quarto acesa, fumando um cigarro atrás do outro. Às três e meia foi até a cozinha e preparou um bule de café. Antes das cinco já havia se barbeado. A água fazia arder a pele esfolada de suas mãos. Vestiu-se e voltou à cozinha para tomar mais café. Tinha um plano simples e bom. Arrastaria as malas até o metrô e seguiria até o fim da linha. Encontraria um lugar afastado, deixaria as malas lá e iria embora. A superação do cansaço levara-o a ver as coisas sob nova luz. Tomou seu café, fumou mais um cigarro e fez um pouco de hora engraxando o sapato e aplicando curativos nas mãos. Assoviava e trauteava a melodia de “Heartbreak Hotel”. Por ora bastava estar livre daquele sonho. Às sete, apertou o nó da gravata, penteou o cabelo de novo e vestiu o paletó. Experimentou erguer as malas antes de abrir a porta da frente. O problema não era só o fato de estarem pesadas. Algo as puxava para baixo, uma força elemental, vinda da terra, tentava obstinadamente trazê-las para si. Otto queria ser enterrado, pensou. Mas ainda não era hora. Levou uma mala de cada vez até o patamar. Quando o elevador chegou, bloqueou a porta com uma delas enquanto empurrava a outra para dentro com o joelho. Apertou o E de Etage, mas o elevador desceu apenas um andar e parou. A porta se abriu para a entrada de Blake. Trajava um blazer azul com botões prateados e levava uma pasta de executivo. Invadido pela fragrância de sua água-de-colônia, o elevador retomou a descida. Blake dirigiu-lhe um cumprimento frio com a cabeça. “A festa estava boa. Obrigado pelo convite.” “Foi um prazer recebê-los”, tornou Leonard. Chegaram ao térreo e as portas se abriram. Blake olhava para as malas. “Essas malas não são do Ministério da Defesa?” Leonard apanhou uma, mas Blake se antecipou e pegou a outra antes dele, levando-a para o vestíbulo. “Puxa vida, o que é que você tem aqui dentro? Um gravador não pesa tanto assim.” Não era uma pergunta retórica. Estavam parados diante da porta aberta do elevador e Blake parecia pensar que tinha direito a uma resposta. Leonard embatucou. Planejara dizer que eram gravadores. Blake disse: “Vai levá-las para Altglienicke, não é? Não tem problema, comigo você pode falar. Conheço o Bill Harvey. Estou por dentro da operação”. “São equipamentos de decodificação”, explicou Leonard. E então, por ter imaginado a cena de Blake aparecendo no armazém para dar uma olhada nos tais equipamentos, acrescentou: “Foram emprestados por Washington. Vamos usá-los no túnel, mas temos de devolvê-los amanhã”. Blake consultou o relógio. “Bom, espero que você tenha providenciado um transporte seguro. Estou atrasado, preciso ir.” Sem dizer mais nada, cruzou o vestíbulo e saiu do prédio rumo ao carro estacionado na rua.
Leonard esperou o automóvel desaparecer de vista antes de se pôr a arrastar as malas para fora. Estava prestes a dar início à parte mais árdua do dia, a caminhada até o fim da rua, onde ficava a estação Neu-Westend do metrô, e o encontro com Blake havia esgotado suas reservas. Chegou à calçada com as malas. A luz do dia aguilhoava-lhe os olhos, e as velhas dores começavam a incomodar. Percebeu do outro lado da rua uma algazarra que pensou ser prudente ignorar. Era um carro com um motor particularmente barulhento, e havia uma voz. O motor foi desligado e só a voz continuou a soar. “Ei, Leonard! Mas que cacete, Leonard!” Glass desceu de seu fusca e atravessou a Platanenallee a pernadas. O negrume de sua barba irradiava um brilho de energia matinal. “Por onde raios você andava? Ontem passei o dia inteiro te procurando. Preciso falar com você a respeito do...” Então Glass viu as malas. “Espere aí. Essas malas são lá do armazém. Deus do céu, Leonard, o que é que você está levando aí dentro?” “Equipamentos”, respondeu Leonard. Glass já tinha colocado a mão em uma das alças. “O que é que você veio fazer aqui com este troço?” “Trabalho. Passei a noite trabalhando nisso.” Glass suspendeu a mala e a abraçou contra o peito. Preparava-se para atravessar a rua levando-a consigo. Um carro vinha passando e ele teve de esperar. Bradou por cima do ombro: “Já falamos sobre isso antes, Marnham. Você conhece as regras. Que maluquice. O que pensa que está fazendo?”. Não aguardou a resposta. Precipitou-se para a frente. Ao chegar do outro lado da rua, colocou a mala no chão e abriu o capô do fusca. Ficou apertado, mas coube. Leonard não teve escolha senão ir atrás dele com a outra mala. Glass o ajudou a jogá-la no banco de trás. Entraram no carro e Glass bateu sua porta com força. Deu a partida ao motor, que, destituído de silenciador, entrou em ação com um rugido. Em meio ao sacolejo com que avançavam, Glass tornou a berrar: “Que porra, Leonard! Como é que você faz um negócio desses comigo? Não vou sossegar enquanto não colocar essas coisas de volta no lugar”.
20.
Durante todo o trajeto rumo ao armazém, Leonard tentava pensar nos sentinelas que seriam obrigados a revistar as malas, ao passo que Glass, tendo dado vazão à sua indignação, queria falar sobre a festa de aniversário do túnel. O tempo era curto. Glass descobrira um caminho mais rápido e em dez minutos eles haviam atravessado Schöneberg e contornado a orla do aeroporto de Tempelhof. “Deixei um bilhete na porta da sua sala ontem”, disse Glass. “Seu telefone tocava e você não atendia. Depois, quando liguei de noite, só dava ocupado.” Leonard olhava pelo buraco do assoalho entre seus pés. O borrão do asfalto o hipnotizava. Em breve suas malas seriam abertas. Sentia-se tão exausto que até achava isso bom. Teria início um processo, com prisão, interrogatórios e tudo mais, e ele se entregaria a isso. Não daria nenhuma explicação enquanto não lhe concedessem umas boas horas de sono. Esta seria sua única condição. Ele disse: “Tirei o fone do gancho. Estava trabalhando”. Avançavam em quarta marcha, a bem menos que trinta por hora. O ponteiro do velocímetro tremia. Glass disse: “Preciso te falar uma coisa. Vou ser bem franco com você, Leonard. Não estou nada satisfeito”. Leonard imaginava a cela limpa, as paredes brancas, a cama de solteiro com lençóis de algodão e um homem de guarda do lado de fora. Disse: “Ah é?”. “Por vários motivos”, prosseguiu Glass. “Em primeiro lugar, você tinha mais de cento e vinte dólares para gastar com atrações que distraíssem o pessoal durante a festa. Soube que torrou tudo num showzinho. De uma hora.” Talvez no portão estivesse um daqueles rapazes camaradas, Jake, Lee ou Howie. Tirariam um dos pedaços da mala. Isto não é equipamento eletrônico, senhor Marnham, é o braço de uma pessoa. Era capaz de alguém vomitar. Possivelmente Glass, que começava a falar de seu segundo motivo de insatisfação. “Depois, esses cento e vinte dólares vão servir para nos trazer um mísero tocador de gaita-defoles. Leonard, você acha que alguém quer saber de ouvir essa arenga escocesa numa festa? É claro que não, cacete. Agora me diga: tem cabimento você obrigar a gente a passar uma hora ouvindo uma porcaria uivante dessas?” De quando em quando Leonard via uma linha branca fulgurar pelo buraco do assoalho. Retrucou com um resmungo: “Poderíamos dançar”. Num gesto teatral, Glass tapou os olhos com a mão. Leonard não tirou os seus do buraco. O fusca manteve-se firme em seu curso. “Em terceiro lugar, alguns figurões estarão lá, Leonard, inclusive alguns de Dollis Hill. Tem idéia do que esse pessoal vai dizer?” “Depois de uns drinques”, retorquiu Leonard, “não há nada como um lament.”
“Não tenho nada contra os laments. Mas vão dizer: Hum, comida americana, vinhos alemães e música escocesa. Os escoceses estão na operação? Por acaso temos um relacionamento especial com a Escócia? A Escócia entrou na otan?” “Eu podia ter arrumado um cão cantor”, murmurou Leonard sem levantar a cabeça. “Mas daria no mesmo, era um cachorro inglês.” Glass não havia escutado. “Você armou essa merda, Leonard, e vai ter que dar um jeito de consertar isso ainda hoje, enquanto é tempo. Depois de deixarmos esse equipamento no armazém, vamos até o quartel do Scots Greys, em Spandau. Lá você fala com o sargento, cancela o tocador de gaita e pega o dinheiro de volta. Certo?” Estavam sendo ultrapassados por um comboio de caminhões, de modo que Glass não percebeu que seu passageiro ria incontrolavelmente consigo mesmo. Já podiam ver o conjunto de antenas despontando no telhado do armazém. Glass reduziu ainda mais a velocidade. “Esses rapazes terão de ver o que temos aqui. Podem olhar, mas não precisam saber do que se trata, entendido?” O surto de hilaridade havia passado. “Ah, meu Deus”, disse Leonard. Glass parou o carro. Baixou o vidro enquanto o sentinela se aproximava deles. Não tinha uma cara conhecida. “Esse aí é novo”, disse Glass. “E o parceiro dele também. Isso vai levar mais tempo do que eu imaginava.” O rosto que apareceu na janela era grande e rosado, os olhos fitavam-nos com expressão diligente. “Bom dia, senhor.” “Bom dia, soldado.” Glass entregou os passes de ambos. O sentinela aprumou o corpo e passou um minuto examinando-os. Sem baixar o tom de voz, Glass disse: “Esses sujeitos são treinados para se dedicar ao máximo a suas funções. Levam seis meses de serviço para relaxar um pouco”. Era verdade. Se fosse o Howie, talvez os tivesse reconhecido e acenado para que entrassem. O rosto imberbe do jovem de dezoito anos reapareceu na janela. Os passes foram devolvidos. “Preciso dar uma olhada no seu porta-malas, senhor, e tenho que verificar o que há dentro dessa mala.” Glass desceu e abriu o capô. Tirou a mala, colocou-a no chão e ajoelhou-se junto dela. De seu lugar, Leonard observou-o desafivelar as cintas de lona. Ainda dispunha de uns dez segundos. Afinal de contas, podia simplesmente sair correndo pela estrada. Isso não haveria de piorar sua situação. Desceu do carro. O segundo sentinela, que parecia ainda mais jovem que o primeiro, aproximou-se por trás de Glass e pôs a mão em seu ombro. “Se o senhor não se importar, gostaríamos de examiná-la dentro da guarita.” Glass fingia-se de obediente e cordato. Em questões de segurança, sua entusiástica disposição em cooperar tinha por intuito servir de exemplo para os demais. Uma das cintas já estava desafivelada. Ignorando esse detalhe, ele cingiu a mala contra o peito e cambaleou com ela até a guarita na beira da estrada. O primeiro soldado havia aberto a porta para Glass e agora recuara educadamente para permitir que Leonard puxasse a outra mala para fora do carro. Os dois sentinelas o acompanharam quando ele se dirigiu à guarita, carregando a mala com ambas as mãos. Lá dentro havia uma mesinha de madeira e, em cima dela, um telefone. Glass pôs o telefone no chão, suspendeu sua mala com um grunhido e depositou-a sobre a mesa. O espaço era exíguo,
obrigando os quatro a se acotovelarem em volta da mesa. Leonard conhecia Glass bastante bem para saber que todo aquele bulício e esforço o haviam deixado de mau humor. Ofegando pelo nariz e coçando a barba, ele permaneceu um pouco atrás dos demais. Tinha trazido a mala até ali, os sentinelas que se virassem para abri-la. E ai deles se dessem alguma mancada, qualquer deslize seria devidamente informado a seus superiores. Leonard acomodou sua mala ao pé da mesa. Pretendia aguardar do lado de fora da guarita enquanto a revista era feita. Depois do sonho, não estava disposto a ver mais nada, e era grande a chance de que algum dos jovens sentinelas acabasse vomitando naquele cubículo. Talvez os três o fizessem. Todavia, permaneceu no vão da porta. Era difícil resistir à tentação de olhar. Estava na iminência de experimentar uma reviravolta em sua vida, mas não sentia nenhuma emoção especial. Tinha dado o melhor de si e sabia que não era uma pessoa particularmente má. O primeiro soldado descansara seu fuzil no chão e estava desafivelando a outra cinta da mala. Leonard o observava como se estivesse a léguas de distância. O mundo, que jamais dera muita atenção a Otto Eckdorf, estava prestes a explodir em alvoroço por causa de sua morte. O soldado levantou a tampa e os três olharam para os itens envoltos em tecido emborrachado. Estavam bem embrulhados, mas não se pareciam muito com artigos eletrônicos. Nem mesmo Glass conseguia ocultar sua curiosidade. O cheiro de cola e borracha era penetrante, como fumaça de cachimbo. Súbito uma idéia imprevista assomou à cabeça de Leonard e ele, sem pensar duas vezes, colocou-a em ação. Abriu caminho até a mesa no exato instante em que o sentinela estendia o braço para pegar um dos pedaços de Otto. Leonard agarrou o pulso do rapaz e falou. “Se vão levar esta revista em frente, preciso comunicar uma coisa em particular ao senhor Glass. É algo que envolve graves questões de segurança e só vai levar um minuto.” O soldado recolheu o braço e voltou-se para Glass. Leonard fechou a mala. Glass disse: “Tudo bem, rapazes? Só um minuto?”. “Sem problema”, respondeu um deles. Glass saiu da guarita atrás de Leonard. Pararam junto à cancela listada de vermelho e branco. “Desculpe, Bob”, disse Leonard. “Não imaginava que eles fossem querer abrir as embalagens.” “São novatos, só isso. E você não devia ter saído daqui com essas coisas.” Leonard apoiou o corpo na cancela e relaxou. Não tinha nada a perder. “Não foi à toa, era necessário. Agora escute uma coisa. Vou desrespeitar as normas, mas é que há uma questão mais importante em jogo. Quero que saiba que essas coisas fazem parte de um projeto de nível quatro em que estou trabalhando.” Glass pareceu se retesar todo. “Nível quatro?” “Isso mesmo, é um negócio extremamente técnico”, disse Leonard sacando a carteira do bolso. “É nível quatro, Bob, e esses sujeitos estão pondo as mãos imundas em aparelhos muito delicados. Quero que você ligue para o Estádio Olímpico e fale com o MacNamee. Aqui está o cartão dele. Diga para ele entrar em contato com o oficial de serviço daqui. A revista tem que ser suspensa. Nessas malas há coisas para lá de confidenciais. Diga isso ao MacNamee, ele sabe do que se trata.” Glass não fez perguntas. Virou-se e voltou rapidamente para a guarita. Leonard ouviu-o ordenar aos sentinelas que fechassem a mala e a colocassem em lugar seguro. Um deles deve ter questionado a ordem, pois Glass esbravejou: “Faça logo o que eu estou mandando, soldado!
Você é peixe pequeno para isto aqui”. Enquanto Glass falava ao telefone, Leonard saiu perambulando pela estrada. Começava a fazer uma linda manhã primaveril. Flores amarelas e brancas desabrochavam na vala que margeava a estrada. Não soube identificar nenhuma das plantas que havia por ali. Cinco minutos depois, Glass deixou a guarita, seguido pelos soldados com as malas. Leonard e Glass aguardaram que eles recolocassem a bagagem no fusca. Em seguida, os sentinelas levantaram a cancela e ficaram em posição de sentido enquanto o carro passava. Glass disse: “Os coitados levaram um sabão do oficial de serviço. E ele levou um esculacho do MacNamee. Tem um segredo e tanto nessas malas, hein?”. “Tem mesmo”, respondeu Leonard. Glass estacionou o carro e desligou o motor. O oficial de serviço e dois soldados os aguardavam junto às portas duplas. Antes de descer, Glass pousou a mão no ombro de Leonard e disse: “Você progrediu bastante desde o tempo em que passava o dia queimando caixas de papelão”. Saíram do carro. Leonard falou por cima da capota do fusca: “Só o fato de estar participando disto aqui já é uma honra”. Os soldados pegaram as malas. O oficial de serviço quis saber para onde elas deviam ser levadas e Leonard sugeriu o túnel. Pensou que ir lá para baixo o acalmaria. Entretanto, com Glass e o oficial a seu lado, e os dois soldados atrás, a descida não produziu o efeito esperado. Ao chegarem ao fundo do poço principal, as malas foram transferidas para um vagonete de madeira com rodas giratórias, que os soldados se encarregaram de empurrar. Passaram pelos rolos de arame farpado que sinalizavam o início do setor russo. Poucos minutos depois tiveram de se espremer para transpor a área dos amplificadores, e Leonard indicou o lugar embaixo da escrivaninha onde as malas deveriam ser alojadas. Disse Glass: “Mas que besta eu sou! Cruzei tantas vezes com essas malas e nunca me passou pela cabeça espiar o que tinha dentro delas”. “Não vá querer fazer isso agora, Bob”, advertiu Leonard. O oficial de serviço colocou um lacre de arame em ambas as malas. “Para que só possam ser abertas com a sua autorização”, explicou. Subiram até a cantina para tomar um café. A revelação de que Leonard estava envolvido num projeto de nível quatro havia lhe conferido uma espécie de promoção. Quando Glass mencionou a necessidade de irem a Spandau procurar o sargento do Scots Greys, Leonard não sentiu a menor dificuldade em levar a mão à testa. “Não vai dar. Faz duas noites que eu não durmo. Amanhã pode ser.” Ao que Glass disse: “Não se preocupe. Deixe que eu cuido disso”. O americano ofereceu a Leonard uma carona até sua casa. Porém Leonard não sabia ao certo para onde queria ir. Via-se diante de novos problemas. Queria ir para um lugar onde pudesse refletir sobre eles. Por isso Glass o largou na entrada da cidade, na estação Grenzallee, a última parada do metrô. Depois que Glass partiu, Leonard passou alguns minutos flanando pelo saguão da estação, exultante com sua liberdade. Carregara aquelas malas meses a fio, anos sem fim. Sentou-se num banco. Não as tinha mais consigo, mas ainda não havia se desfeito delas. Ficou ali parado, olhando fixamente para os vergões nas palmas das mãos. A temperatura no túnel era mantida a 27ºC, talvez fosse ainda mais alta embaixo da escrivaninha, devido à proximidade dos
amplificadores. Em dois dias, ou até antes disso, as malas estariam exalando mau cheiro. Podia tentar tirá-las de lá inventando alguma história enrolada sobre o tal projeto de nível quatro, mas o fato é que a essa altura MacNamee já devia estar a caminho do armazém, ávido para saber que equipamento era esse em que Leonard pusera as mãos. Estava numa encrenca dos diabos. Saíra com a intenção de abandonar as malas na anonimidade de uma estação ferroviária, onde chegavam e partiam linhas internacionais, e acabara por largá-las num lugar fechado, de acesso restrito, em que se achavam totalmente ligadas a ele. Estava num mato sem cachorro. Tentava pensar num meio de se safar, mas só o que lhe vinha à cabeça era o tamanho da embrulhada em que se metera. O banco em que se sentara ficava de frente para a bilheteria. Deixou a cabeça pender para baixo. Trajava um belo terno, estava de gravata e seus sapatos reluziam. Ninguém o tomaria por um vagabundo. Pôs os pés em cima do banco e dormiu por duas horas. Embora seu sono fosse profundo, permaneceu consciente dos passos dos passageiros ecoando pelo saguão da estação e, de certa forma, foi reconfortante poder dormir a salvo entre esses estranhos. Despertou em pânico. Era meio-dia e dez. McNamee devia andar à sua procura no armazém. Se o cientista do governo britânico estivesse impaciente, ou fosse afoito demais, seria capaz até mesmo de tentar impor sua autoridade para que rompessem os lacres da mala. Leonard levantouse. Dispunha somente de uma ou duas horas para agir. Precisava falar com alguém. Afligia-lhe pensar em Maria. Não suportaria nem chegar perto do apartamento dela. As ripas do banco haviam deixado marcas em suas nádegas e amarrotado o terno. Dirigiu-se com passos incertos à bilheteria. Seu cansaço tinha por característica obstar a elaboração de planos. Quando dava por si, via-se colocando-os em ação, como se estivesse cumprindo ordens. Comprou um bilhete para a Alexanderplatz, no setor russo. Havia um trem esperando a hora de partir, e o que ele deveria tomar na Hermannplatz, onde precisou mudar de linha, entrou na estação assim que ele pôs os pés na plataforma. Essa facilidade o convenceu de que deveria levar sua intenção a cabo. Estava sendo atraído por ela, rumo a uma solução de proporções monstruosas, atrozes. Desceu na Alexanderplatz e andou por dez minutos ao longo da Königstrasse. A certa altura teve de parar para se informar sobre o caminho. O lugar era maior do que ele imaginara. Esperava algo acanhado e discreto, com reservados de divisórias altas, próprios para o intercâmbio de informações sigilosas. Mas o Café Prag era espaçoso, tinha um pé-direito altíssimo, um teto todo encardido e uma profusão de mesinhas redondas. Optou por um lugar onde ficasse bem visível e pediu um café. Certa vez Glass lhe dissera que bastava a pessoa se sentar ali e aguardar até ser abordada por um daqueles Hundert Mark Jungen. O lugar foi se abarrotando de gente que chegava para o almoço. Nas mesas havia uma porção de tipos com aparência séria. Podiam tanto ser funcionários de escritórios das redondezas quanto espiões de uma meia dúzia de países. Ocupou seu tempo traçando um mapa a lápis num guardanapo de papel. Quinze minutos se passaram sem que nada acontecesse. Concluiu que aquilo era mais uma das invencionices que corriam à solta em Berlim. Diziam que o Café Prag era um mercado onde as pessoas barganhavam todo tipo de informação extra-oficial. Na realidade não passava de um lugar insípido em Berlim Oriental, que servia um café fraco e morno. Estava na terceira xícara e sentia-se nauseado. Havia dois dias não comia nada. Vasculhava os bolsos à procura de marcos orientais, quando um rapaz com um rosto flamejante de tão sardento sentou-se à sua frente. “Vous êtes français”, disse, com um tom de quem constatava um fato.
“Não”, replicou Leonard, “inglês.” O sujeito regulava em idade com Leonard. Tinha levantado a mão para chamar o garçom. Dava a impressão de não achar necessário se explicar ou pedir desculpas pelo engano. Fora apenas uma maneira de puxar conversa. Mandou o garçom trazer dois cafés e estendeu a mão cheia de pintas por cima da mesa. “Hans.” Leonard apertou-a e disse: “Henry”. Era o nome de seu pai, o que a seu ver mitigava a mentira. Hans tirou um maço de Camel do bolso, ofereceu um e não pareceu a Leonard muito à vontade com seu isqueiro Zippo. Falava um inglês impecável. “Nunca o havia visto por aqui antes.” “É a primeira vez.” O café que não tinha lá muito gosto de café chegou. Depois que o garçom se foi, Hans perguntou: “E então, está gostando de Berlim?”. “Estou”, respondeu Leonard. Não suspeitara que haveria um preâmbulo de conversa fiada, mas esse devia ser o costume do lugar. Como queria fazer as coisas direito, indagou polidamente: “Nasceu aqui?”. Hans respondeu com um relato sobre sua infância em Kassel. Quando tinha quinze anos, a mãe se casara com um berlinense. Era difícil prestar atenção na história. Os detalhes insignificantes o exasperavam e agora Hans perguntava sobre sua vida na Inglaterra. Depois de fazer um breve resumo da infância passada em Londres, Leonard concluiu afirmando que achava Berlim uma cidade muito mais interessante. Na mesma hora se arrependeu de ter dito isso. Hans contestou: “Ah, isso não, de jeito nenhum. Londres é uma capital do mundo. Berlim está acabada. Seu esplendor é coisa do passado”. “Talvez você tenha razão”, tornou Leonard. “Talvez eu pense assim porque me agrade viver no estrangeiro.” Foi outro erro, pois então se puseram a falar sobre os prazeres de viajar para o exterior. Hans quis saber que outros países Leonard já visitara e ele sentia-se cansado demais para se esquivar da verdade. Conhecia o País de Gales e Berlim Ocidental. Hans o exortou a ser mais aventureiro. “Você é inglês, pode ir para onde bem entender.” Seguiu-se uma lista de lugares, encabeçada pelos Estados Unidos, os quais Hans pretendia visitar. Leonard consultou o relógio. Uma e dez. Não sabia ao certo o que isso significava. As pessoas deviam estar à sua procura. Não fazia idéia do que iria lhes dizer. Assim que Leonard olhou para o relógio, Hans concluiu sua lista e lançou um rápido olhar pelo salão. Então disse: “Henry, imagino que você tenha vindo até aqui porque está à procura de algo. Quer comprar alguma coisa, não é isso?”. “Não”, retrucou Leonard. “Quero contar uma coisa à pessoa certa.” “Tem algo para vender?” “Não exatamente. Estou dando de graça.” Hans ofereceu outro cigarro a Leonard. “Escute aqui, amigo. Vou lhe dar um conselho. Se não quer nada em troca, as pessoas vão pensar que isso que você tem não vale nada. Se a coisa é boa, precisa fazer com que paguem por ela.” “Tudo bem”, disse Leonard. “Se alguém quiser me pagar, não tem problema.” “Se preferir, eu vendo para você”, sugeriu Hans. “Nesse caso o lucro seria todo meu. Acontece que simpatizei com você. Se me der seu endereço, ainda sou capaz de um dia aparecer em Londres. De forma que aceito uma comissão. Cinqüenta por cento.” “Para mim tanto faz”, disse Leonard. “Pois bem. O que você tem para contar?”
Leonard abaixou a voz. “Algo que interessa ao Exército soviético.” “Isso é muito bom, Henry”, disse Hans num tom de voz normal. “Tenho um amigo que conhece um sujeito no Alto-Comando e por coincidência ele está aqui hoje.” Leonard mostrou seu mapa. “Esta é a Schönefelder Chaussee. Do lado dos russos, um pouco ao norte deste cemitério aqui, em Altglienicke, as linhas telefônicas deles foram grampeadas. Elas ficam num fosso que corre por aqui. Está vendo este ponto que eu marquei? É bem aí que estão os grampos.” Hans pegou o mapa. “Mas como foi que fizeram para chegar lá? É impossível.” Leonard não conseguiu dissimular seu orgulho. “Cavaram um túnel. É essa linha mais grossa que eu assinalei. Começa no setor dos americanos, num lugar que parece uma estação de radar.” Hans balançava a cabeça. “Fica muito longe. É impossível. Ninguém vai acreditar nisso. Não vale nem vinte e cinco marcos.” Leonard estava à beira de um ataque de risos. “É um projeto enorme. Não precisam acreditar. Basta irem lá dar uma olhada.” Hans pegou o mapa e se levantou da mesa. Encolheu os ombros e disse: “Vou conversar com o meu amigo”. Leonard observou-o atravessar todo o salão e falar com um homem que estava encoberto por um pilar. Depois ambos saíram por uma porta de vaivém, rumo ao lugar onde ficavam os banheiros e o telefone. Hans retornou dali a alguns minutos, com um aspecto mais animado. “Meu amigo disse que a coisa pelo menos parece interessante. Está tentando falar com o contato dele.” Hans voltou para a outra extremidade do salão. Leonard aguardou até que ele estivesse fora de vista e então saiu do café. Avançara pela rua pouco menos de cinqüenta metros, quando ouviu um grito. Um homem com uma toalha de mesa branca enrolada na cintura vinha em sua direção numa corrida desabalada, brandindo um pedacinho de papel. Ele devia cinco cafés. Enquanto pagava a conta e se desculpava, Hans chegou correndo. À luz do dia, suas sardas assumiam um tom berrante. O garçom se foi e Hans disse: “Você se esqueceu de me dar seu endereço. E veja só: meu amigo pagou duzentos marcos”. Leonard saiu andando e Hans seguiu a seu lado. Leonard disse: “Você fica com o dinheiro que eu fico com o meu endereço”. Hans enganchou seu braço no de Leonard. “Não foi isso que combinamos.” O contato desencadeou em Leonard um calafrio de repulsa. Livrou-se do braço do outro. “Não gosta de mim, Henry?”, indagou Hans. “Não”, volveu Leonard. “Dê o fora.” Acelerou o passo. Quando olhou por cima do ombro, viu Hans caminhando de volta para o café. Ao chegar à Alexanderplatz, Leonard foi dominado por novo estado de inquietação. Precisava se sentar e descansar o pé, mas antes tinha que decidir para onde ir. Devia procurar Maria, mas sabia que ainda não estava preparado para encará-la. Queria ir para casa, mas MacNamee poderia estar à sua espera. Se os lacres tivessem sido rompidos, a Polícia do Exército estaria lá. Por fim comprou um bilhete para a Neu-Westend. No trem resolveria o que fazer. Desceu no Zoo, tendo optado por entrar no parque e procurar um lugar para dormir. Embora fizesse um dia ensolarado, depois de caminhar durante vinte minutos até encontrar um canto sossegado nas margens do canal, o vento pareceu-lhe um pouco fresco demais para que pudesse
relaxar. Passou meia hora deitado na grama recém-cortada, tiritando de frio. Percorreu todo o caminho de volta, passando pelos jardins do parque até chegar à estação e tomar o metrô para casa. Dormir tornara-se sua única prioridade. Se os soldados da pe estivessem lá, teria apenas de enfrentar o inevitável. Se fosse MacNamee, inventaria uma história quando fosse necessário. Adejou pela calçada da Neu-Westend à Platanenallee. O cansaço fez com que ele se dissociasse da ação de suas pernas. Estava sendo levado para casa. Não encontrou ninguém à sua espera. Ao entrar no apartamento viu dois bilhetes que tinham sido enfiados pela soleira da porta. Um deles, de Maria, dizia: “Por onde você anda? O que está acontecendo?”. O outro, de MacNamee, instava: “Me ligue”, e arrolava três números onde ele poderia ser encontrado. Leonard foi direto para o quarto e cerrou as cortinas. Tirou todas as roupas. Não se deu o trabalho de vestir o pijama. Em menos de um minuto, finalmente ressonava. Em menos de uma hora, despertou com um desejo premente de urinar. Além disso, o telefone estava tocando. Parou no meio do hall, sem saber qual das duas necessidades atender primeiro. Resolveu-se pelo telefone e, mal tirou o fone do gancho, percebeu ter tomado a decisão errada. No estado em que se encontrava, não conseguiria se concentrar. Era Glass, com um tom distante e extremamente contrariado. Ao fundo, ouvia-se um vozerio desordenado. Parecia um homem no meio de um pesadelo. “Leonard, Leonard, é você?” Na sala não batia sol. Nu e tremendo de frio, Leonard trançou as pernas antes de responder: “Sim, sou eu”. “Leonard? Está me ouvindo?” “Sou eu, Bob, estou aqui.” “Graças a Deus. Ouça uma coisa. Está ouvindo com atenção? Vai ter que me dizer o que há naquelas malas. Preciso saber e tem que ser agora.” Leonard sentiu as pernas ficarem bambas. Sentou-se no tapete, em meio aos escombros de sua festa de noivado. Disse: “Elas foram abertas?”. “Pare com isso, Leonard. Vamos, me diga o que é.” “Bob, para começo de conversa isso é assunto confidencial e, além do mais, este telefone não é seguro...” “Pare de enrolação, Marnham. Esta merda toda está indo por água abaixo. O que é que tem naquelas malas?” “O que está acontecendo aí? Que barulheira é essa?” Glass precisava gritar para ser ouvido. “Porra! Você ainda não soube? Descobriram a gente. Invadiram a câmara de escuta. Nosso pessoal tratou de cair fora, mas não deu tempo de fechar as portas de aço. Eles tomaram conta do túnel, estão por toda parte, até o limite com o nosso setor é tudo deles. Por precaução resolvemos esvaziar o armazém. Tenho uma reunião com o Harvey daqui a uma hora e ele quer que eu apresente um relatório de perdas. Preciso saber o que havia naquelas malas. Está me ouvindo?” Leonard não conseguia falar. Sua garganta fora cingida por uma gratidão jubilosa. Com que rapidez e facilidade tudo se resolvera. Agora o grande silêncio russo podia cair sobre Altglienicke. Iria se vestir e sair para contar a Maria que estava tudo bem. Glass chamava-o aos berros. Leonard disse: “Desculpe, Bob. Fiquei pasmo com a notícia”. “As malas, Leonard. As malas!” “Tudo bem, vou falar. Era o corpo de um sujeito que eu piquei em pedacinhos.”
“Seu canalha, não tenho tempo para brincadeiras.” Leonard pelejava para não deixar transparecer a alegria na voz. “Falando sério, Bob, você não tem muito com o que se preocupar. Aquilo era um aparelho de decodificação que eu tentei montar. Ainda estava pela metade quando descobri que as minhas idéias eram ultrapassadas.” “Então por que armou aquela confusão toda hoje de manhã?” “Os projetos de decodificação são todos de nível quatro”, justificou-se Leonard. “Mas me diga uma coisa, quando foi que isso aconteceu?” Glass falava com outra pessoa. Interrompeu-se. “O que foi que disse?” “Quando foi que eles invadiram?” Glass não hesitou. “Às doze e cinqüenta e oito.” “Não, Bob. Não pode ser.” “Escute aqui, se quer saber mais, ligue o rádio. A Deutschlandsender1 não fala em outra coisa.” Leonard sentiu um frio se alastrar pela barriga. “Mas eles não podem divulgar isso.” “Era o que pensávamos. Iam ficar com cara de tacho. Acontece que o comandante das força soviéticas em Berlim está fora da cidade. O adjunto dele, um sujeito chamado Kotsyuba, deve ser doido varrido. Está explorando isso para fazer propaganda. Vão acabar dando a impressão de que são uns paspalhos, mas é o que estão fazendo.” Leonard pensou em seu chiste mórbido. “Mas que loucura”, disse. Mais uma vez alguém tentava falar com Glass. Ele concluiu apressadamente: “Vão dar uma coletiva para a imprensa amanhã. Prometeram levar os jornalistas para conhecer o túnel no sábado. Estão falando em abrir para o público. Querem transformar isso em atração turística, um monumento à política traiçoeira dos americanos. Leonard, eles vão usar tudo o que acharem por lá”. Glass desligou e Leonard correu para o banheiro.
1. Uma das emissoras estatais de rádio da Alemanha Oriental. (N. T.)
21.
John MacNamee insistiu em se encontrar com Leonard no Kempinski’s e quis ficar do lado de fora. Não eram nem dez da manhã e todos os outros clientes estavam dentro do café. Fazia mais um daqueles dias claros e frios. Toda vez que o sol se escondia atrás de uma das enormes nuvens brancas, o ar ficava gélido. Ultimamente, Leonard andava sofrendo com o frio. Parecia estar sempre tiritando. Na manhã seguinte ao telefonema de Glass, acordou com as mãos trêmulas. Não era um tremor qualquer, era uma tremedeira de paralítico, e ele precisou de alguns minutos para abotoar a camisa. Eram espasmos musculares retardados, concluiu, provocados pelo esforço de carregar as malas. Quando saiu para fazer sua primeira refeição em mais de dois dias, num Schnellimbiss da Reichskanzlerplatz, deixou cair a lingüiça na calçada. Um cachorro de alguém que andava por ali a devorou, com mostarda e tudo. No Kempinski’s, embora houvesse se sentado em uma nesga de sol, Leonard permaneceu de casaco e teve de trincar os dentes para que não ficassem batendo. Não se sentia em condições de segurar uma xícara de café, por isso pediu uma cerveja — que não contribuiria em nada para aplacar sua sensação de frio. MacNamee parecia bastante confortável com um paletó de tweed por cima de uma camisa de algodão fina. Quando seu café chegou, ele encheu o cachimbo e o acendeu. Leonard estava na direção do vento, e o cheiro mais as associações que este lhe suscitava deixaram-no nauseado. Como pretexto para mudar de lugar, levantou-se e foi ao banheiro. Ao voltar, sentou-se do outro lado da mesa, mas então ficou na sombra. Puxou o casaco contra si e sentou em cima das mãos. MacNamee passou-lhe a cerveja ainda intata. A condensação recobria a superfície externa do copo, fendida por duas gotículas de água, que desciam uma ao lado da outra em trajetórias erráticas. “E então?”, disse MacNamee. “Me conte as novidades.” Leonard sentia as mãos tremendo sob as nádegas. Disse: “Quando me dei conta de que não conseguiria arrancar nada dos americanos, comecei a remoer o assunto e me vieram algumas idéias. Resolvi colocá-las em prática no meu tempo livre. Pensava realmente ter descoberto uma maneira de separar as mensagens codificadas do eco do texto original. Por segurança, trabalhava em casa. Mas não deu certo. Percebi que aquilo não tinha nada de novo. Então levei o equipamento de volta para o armazém, pretendia desmontá-lo na minha sala, onde guardo todas as peças sobressalentes. Nem me passou pela cabeça que iriam me revistar daquela maneira. Dei azar de topar com dois rapazes novos no portão. Não haveria problema se eles vissem aquilo, mas o Glass estava comigo e eu não podia deixar que ele soubesse que eu andava trabalhando nesse tipo de coisa. Não tem nada a ver com o que eu faço oficialmente. Sinto muito se o deixei esperançoso”. MacNamee batia com a boquilha do cachimbo nos tocos de dentes amarelados. “Passei umas duas horas bastante entusiasmado. Pensei que você tivesse posto as mãos numa versão do aparelho do Nelson. Mas não se aflija. Acho que Dollis Hill está quase chegando lá.” Agora que sua história havia sido engolida, Leonard queria ir embora. Precisava se aquecer e
urgia ver o que saíra publicado nas edições do meio-dia dos jornais. MacNamee, todavia, estava propenso a reflexões. Pedira mais um café e uma torta de aspecto viscoso. “Prefiro ver o lado positivo da coisa. Sabíamos que não duraria para sempre e ficamos quase um ano lá embaixo. Londres e Washington levarão anos para processar todo o material que coletamos.” Leonard tirou a mão de baixo das nádegas para pegar o copo de cerveja, mudou de idéia e tornou a recolhê-la. “Outro aspecto positivo, do ponto de vista dessa coisa de relacionamento especial, foi o fato de termos cooperado com os americanos num projeto importante. Andavam meio reticentes conosco desde o que aconteceu com o Burgess e o Maclean. Agora estão nos tratando melhor.” Por fim Leonard inventou uma desculpa e se levantou da mesa. MacNamee permaneceu sentado. Reabastecia o cachimbo e fitava Leonard com os olhos semicerrados por causa do sol. “Você está com cara de quem precisa de um descanso. Suponho que saiba que vão chamá-lo de volta a Londres. O oficial responsável pela sua transferência entrará em contato.” Despediram-se. Leonard disfarçou a tremedeira com um aperto de mão vigoroso. MacNamee pareceu não reparar. Suas últimas palavras para Leonard foram: “Apesar de tudo, você fez um bom trabalho. Falei bem de você para o pessoal de Dollis Hill”. “Obrigado”, disse Leonard, e saiu andando apressado rumo à Kurfürstendamm para comprar os jornais. Folheou-os na viagem de metrô até a Kottbusser Tor. Já haviam se passado dois dias e os jornais de Berlim Oriental continuavam martelando a história. Tanto o Tagesspiegel como o Berliner Zeitung dedicavam páginas duplas às fotos do túnel. Uma delas mostrava os amplificadores e a borda da escrivaninha sob a qual as malas tinham sido alojadas. Por alguma razão os telefones da câmara de escuta ainda se encontravam em operação. Os repórteres tentaram falar com o outro lado da linha, mas não obtiveram resposta. A iluminação e o sistema de ventilação também continuavam funcionando. Descrições detalhadas relatavam a experiência de andar pelo túnel desde a Schönefelder Chaussee até a barreira de sacos de areia que demarcava o início do setor americano. Para lá dos sacos de areia, via-se “uma escuridão rompida somente pela brasa de dois cigarros. Mas os observadores não responderam aos nossos chamados. Talvez estejam com a consciência muito pesada”. Em outra matéria, Leonard leu: “A população de Berlim está furiosa com as tramóias de certos oficiais americanos. A cidade só retornará à normalidade quando esses agentes pararem com suas provocações”. O título de um dos artigos era: “Ruídos estranhos na linha”. O texto informava que o serviço secreto soviético notara a presença de ruídos que interrompiam o tráfego normal dos cabos telefônicos. Determinou-se a escavação de alguns trechos das linhas. O motivo da escolha da Schönefelder Chaussee não era esclarecido. Quando os soldados invadiram a câmara de escuta, “encontraramna num estado que indicava que os espiões haviam fugido atabalhoadamente, deixando seus equipamentos para trás”. Nas lâmpadas fluorescentes estava escrito Osram, Inglaterra, “uma clara tentativa de despistamento. Mas as chaves de fenda e as chaves inglesas entregavam o jogo: em todas elas havia a inscrição Made in usa”. No pé da página, em negrito: “Questionado sobre o assunto, um porta-voz das forças americanas em Berlim respondeu ‘Não sei do que se trata!’”. Leonard passou os olhos por todas as matérias. A demora em divulgar a descoberta das malas sugava-lhe as energias. Talvez a idéia fosse isolar a história para aumentar o impacto quando ela viesse à tona. Quem sabe as investigações já não estavam em andamento? Se não tivesse feito
aquele comentário idiota com Glass, a alegação de que haviam encontrado duas malas contendo um corpo esquartejado poderia ser refutada sem maiores problemas. Na eventualidade de as autoridades da Alemanha Oriental preferirem não fazer alarde e encaminharem o caso para a Kriminalpolizei de Berlim Ocidental, bastaria que esta interpelasse os americanos, e então a ligação dele com as malas seria rapidamente descoberta. Mesmo que os americanos se recusassem a cooperar, a polícia não custaria a identificar Otto. A autópsia provavelmente encontraria vestígios de álcool em todos os tecidos de seu corpo, indicando tratar-se de um bêbado. Em breve perceberiam que ele não retornara à pensão, que não havia aparecido para receber o Sozialhilfe, que não estava mais fazendo ponto em sua Kneipe favorita, onde os policiais de folga costumavam lhe pagar bebidas. Por certo a primeira coisa que a polícia fazia quando encontrava um corpo era conferir a lista de pessoas desaparecidas. Havia incontáveis e intrincados vínculos burocráticos entre Otto e Maria e Leonard: o casamento desfeito, a disputa pelo apartamento, o noivado oficial. Mas é claro que esse também seria o caso se ele houvesse conseguido deixar as malas na estação Zoo. O que estavam planejando? Era penoso imaginar. Seriam interrogados, mas não haveria incoerências em suas histórias, o apartamento teria passado por uma faxina meticulosa. Talvez restassem suspeitas, mas não haveria provas. E qual era a essência de seu crime? Ter assassinado Otto? Mas foi legítima defesa. Ele invadira o quarto deles, atacara-os. Não ter informado sua morte à polícia? Mas era a única coisa sensata a fazer, visto que ninguém acreditaria neles. Ter retalhado o corpo? Mas se naquela altura ele já estava morto, não fazia diferença. Ter ocultado o corpo? Foi um desdobramento perfeitamente lógico. Ter enganado Glass, os sentinelas, o oficial de serviço e MacNamee? Mas só o fez para protegê-los de fatos desagradáveis que nada tinham a ver com eles. Ter revelado o túnel aos soviéticos? Foi triste, mas necessário, considerando-se tudo o que sucedera antes. Além do mais, Glass, MacNamee e todos os outros agora diziam que mais cedo ou mais tarde isso acabaria acontecendo. Sabiam que não duraria para sempre, e haviam ficado quase um ano lá embaixo. Era inocente, disso ele tinha certeza. Por que então suas mãos tremiam? Seria o medo de ser descoberto e punido? Mas queria mais é que viessem, e rápido. Queria tirar esses pensamentos obsessivos da cabeça, falar com alguma autoridade e ver suas palavras transferidas para o papel, datilografadas, prontas para receber sua assinatura. Queria narrar os acontecimentos e fazer ver àqueles cujo trabalho era determinar oficialmente a verdade como uma coisa levara à outra e que, apesar das aparências, ele não era nenhum monstro, não era um desequilibrado mental com mania de cortar as pessoas em pedaços, e que não fora um ato insano sair por Berlim carregando sua vítima de um lado para o outro em duas malas. Expôs os fatos inúmeras vezes para suas testemunhas imaginárias, seus acusadores. Se fossem homens comprometidos com a verdade, tomariam seu partido, mesmo que as leis e as convenções os constrangessem a puni-lo. Empenhava todo o seu ser em contar e recontar sua versão. Devotava todos os seus minutos conscientes a explicar, lapidar, esclarecer, praticamente sem se dar conta de que não estava acontecendo nada ou de que já havia fantasiado tudo aquilo dez minutos antes. Sim, sou culpado da acusação que fazem contra mim: matei, esquartejei, menti e traí. Mas relatarei a seguir as circunstâncias que efetivamente me levaram a isso e então verão que não sou diferente dos senhores, compreenderão que não sou uma pessoa má e que agi o tempo todo em busca do que imaginei ser a melhor solução para o problema. A cada instante que passava, sua defesa
assumia tons mais grandiosos. Sem perceber, recorria a cenas de tribunal extraídas de filmes havia muito esquecidos. Às vezes via-se numa saleta deprimente, no interior de uma delegacia, falando por longo tempo para meia dúzia de policiais de alta patente que o fitavam com expressões reflexivas. Em outras ocasiões, estava no banco das testemunhas, dirigindo-se a um tribunal silencioso. Ao sair da estação Kottbusser Tor, enfiou os jornais numa lata de lixo e avançou pela Adalbertstrasse. E quanto a Maria? Ela fazia parte de sua argumentação. Ele colocava um advogado em ação, um jurista experimentado, que invocaria as esperanças e o amor desses dois jovens noivos que haviam dado as costas para o passado de violência de seus respectivos países na expectativa de passar o resto da vida juntos. Um casal sobre o qual repousavam nossas esperanças de uma Europa livre de antagonismos. Esse era Glass falando. E então MacNamee aparecia diante do tribunal para testemunhar que, dentro de limites compatíveis com a segurança, Leonard desincumbira-se de uma importante tarefa em nome da liberdade, e relataria como, trabalhando sozinho em suas horas de folga, ele idealizara um equipamento que contribuiria ainda mais para a consecução desse objetivo. Apertou o passo. Experimentava alguns momentos de lucidez, minutos sem fim em que as repetições e convoluções de suas fantasias reviravam-lhe o estômago. Não havia verdades à espera de que alguém as descobrisse. Só havia o que poderia vir a ser imperfeitamente verificado por autoridades que tinham muitos outros afazeres e que ficariam bastante satisfeitas em poder imputar um crime a seu perpetrador, sentenciar o acusado e seguir em frente. Mal tinha embarcado nessa reflexão, em si mesma uma repetição, quando um fato novo, mitigador, veio-lhe à lembrança. A verdade, a verdade cristalina, era que Otto havia agarrado Maria pela garganta. Tive de lutar com ele, embora eu deteste violência. Eu sabia que precisava impedi-lo. Atravessou o pátio interno do número 84. Era sua primeira visita desde então. Começou a galgar a escadaria. O tremor das mãos retornou com toda a força. Tinha dificuldade em se apoiar no corrimão. No patamar do quarto andar, fez uma pausa. A verdade é que ainda preferia adiar o encontro com Maria. Não sabia o que dizer a ela. Não podia fingir que as malas haviam sido descartadas com segurança. Não podia contar onde as havia deixado. Isso implicaria falar a ela sobre o túnel. Mas, afinal de contas, esse segredo ele já revelara para os russos. Depois disso, sem dúvida podia revelá-lo a qualquer um. Chegou à mesma conclusão de antes: não estava em condições de tomar decisões, por isso o melhor era ficar em silêncio. Todavia, uma vez que tinha de falar alguma coisa, diria que as malas haviam ficado na estação. Tentou se segurar com mais força no corrimão. Mas tampouco se achava em condições de fingir. Continuou subindo. Embora tivesse sua própria chave, bateu na porta e aguardou. Sentiu cheiro de cigarro no apartamento. Ia bater de novo, quando a porta foi aberta por Glass, que saiu para o patamar, pegou-o pelo cotovelo e o conduziu até o topo da escadaria. O americano sussurrou apressadamente: “Antes de entrar, quero que saiba uma coisa. Temos que verificar se nos encontraram por acaso ou se alguém deu com a língua nos dentes. Entre outras coisas, estamos conversando com todas as esposas e namoradas que não são americanas. Não vá se ofender. É só rotina”. Entraram no apartamento. Maria veio até Leonard e eles se deram um beijo seco nos lábios. O joelho direito dele estava tremendo, por isso tratou de se sentar na cadeira mais próxima. Em cima da mesa, junto a seu cotovelo, via-se um cinzeiro cheio. Glass disse: “Você parece exausto, Leonard”.
Ele incluiu os dois na resposta. “Tenho trabalhado dia e noite.” E então apenas para Glass: “Aquelas coisas para o MacNamee”. Glass apanhou o paletó que estava no espaldar de uma cadeira e o vestiu. Maria disse: “Vou com você até a porta”. Ao sair, Glass mofou de Leonard, despedindo-se com uma continência solene. Leonard o ouviu conversando com Maria à porta do apartamento. Ao retornar, ela disse: “Você está doente?”. Ele manteve as mãos quietas no colo. “Ando me sentindo meio estranho, você não?” Ela respondeu que sim com a cabeça. Estava com olheiras, a pele e os cabelos tinham um aspecto oleoso. Ficou satisfeito de não se sentir atraído por ela. Maria disse: “Vai dar tudo certo”. Essa certeza feminina o irritou. “Ah, claro”, volveu ele. “As malas ficaram no guarda-volumes da estação Zoo.” Maria fitava-o com atenção, mas ele não tinha coragem de devolver o olhar. Ela abriu a boca para falar, mas mudou de idéia. “O que o Glass queria?”, inquiriu ele. “Foi como da outra vez, só que pior. Fez uma porção de perguntas sobre as pessoas que eu conheço, os lugares onde estive nas últimas duas semanas.” Agora sim ele a encarava. “Só isso?” “Só”, respondeu ela, mas desviou o olhar. É claro que não estava com ciúme, pois já não sentia nada por ela. Além disso, não suportaria mais uma emoção. Não obstante, resolveu bancar o noivo ciumento. Pelo menos era algo sobre o que falar. “Ele ficou bastante tempo.” Referia-se ao cinzeiro. “Pois é.” Maria sentou-se e deu um suspiro. “Até tirou o paletó.” Ela aquiesceu com a cabeça. “E só fez umas perguntas?” Dali a alguns dias estaria indo embora de Berlim, provavelmente sem ela, e falava dessa maneira. Maria se esticou por cima da mesa e pegou na mão dele. Leonard não queria que ela percebesse como ele estava tremendo, por isso não permitiu que a segurasse por muito tempo. Disse ela: “Leonard, tenho certeza de que vai dar tudo certo”. Era como se ela pensasse que poderia tranqüilizá-lo apenas com seu tom de voz. O dele era de escárnio. “Claro que vai. Ainda temos alguns dias antes que abram os armários, antes que apareçam por aqui, porque vão aparecer, não tenha dúvida que vão. E você? Já se livrou da serra, da faca, do tapete, de todas aquelas roupas ensangüentadas, dos sapatos, dos jornais? Tem certeza de que ninguém a viu? Ou de que ninguém me viu sair daqui com duas malas enormes, de que ninguém reparou em mim na estação? Esfregou este apartamento de cima a baixo a ponto de que nenhum cão farejador seja capaz de encontrar algum vestígio?” Esse rancor todo não levava a nada, ele sabia, mas não conseguia parar. “Quem garante que os vizinhos não escutaram a briga? E quanto às nossas histórias, que tal tratarmos de repassá-las tintim por tintim, para que não sobre a mais mínima divergência, em vez de ficarmos aqui falando um para o outro que tudo vai dar certo?” “Já cuidei de tudo por aqui. Não precisa se preocupar. Nossas histórias são simples.
Contamos exatamente o que aconteceu, só deixamos o Otto de fora. Voltamos para cá depois do jantar, dormimos, na manhã seguinte você saiu para trabalhar, eu tirei o dia de folga e fui às compras, você voltou na hora do almoço e, à noite, foi para o seu apartamento na Platanenallee.” Era a descrição de um futuro que devia ter sido o deles. O casal feliz após o noivado. A normalidade sarcástica disso fez com que ambos se calassem. Então Leonard voltou a Glass. “Foi a primeira vez que ele esteve aqui?” Ela balançou afirmativamente a cabeça. “Parecia com pressa.” “Não fale assim comigo”, tornou ela. “Você precisa se acalmar.” Deu-lhe um cigarro e tirou outro do maço para si mesma. Pouco depois ele disse: “Vão me mandar de volta para a Inglaterra”. Ela tomou fôlego e perguntou: “O que você pretende fazer?”. Ele não sabia. Continuava pensando em Glass. Por fim disse: “Pode ser bom passarmos algum tempo longe um do outro, ajudaria a gente a colocar a cabeça no lugar”. Não lhe agradou a prontidão com que ela aceitou a sugestão. “Preciso de pelo menos um mês para sair do emprego. Aí eu poderia me encontrar com você em Londres.” Leonard ficou sem saber se devia levá-la a sério, se é que isso tinha alguma importância. Enquanto permanecesse ali, sentado ao lado de um cinzeiro cheio de bitucas de cigarros fumados por Glass, não conseguiria pensar no assunto. “Escute”, disse ele, “estou exausto. Você também deve estar.” Levantou-se e enfiou as mãos nos bolsos. Ela também ficou em pé. Havia algo que ela queria lhe dizer, mas conteve-se. Tinha um aspecto envelhecido, seu semblante prenunciava a mulher que viria a ser um dia. Não se esforçaram para prolongar o beijo. Então ele se dirigiu à porta. “Aviso assim que souber do meu vôo.” Ela o acompanhou até o patamar, mas ele não olhou para trás ao iniciar a descida. Nos três dias seguintes, Leonard passou a maior parte do tempo no armazém. O lugar estava sendo desmanchado. Caminhões do Exército chegavam dia e noite para carregar os móveis, a papelada e os equipamentos. Nos fundos, o incinerador ardia a pleno vapor e três soldados haviam sido instruídos a permanecer à sua volta, a fim de impedir que papéis não queimados saíssem voando. A cantina foi desmontada. Ao meio-dia um furgão trazia sanduíches e café. Havia cerca de dez pessoas trabalhando na sala de gravações, enrolando cabos e encaixotando os gravadores seis a seis em engradados de madeira. Os documentos confidenciais tinham sido removidos poucas horas após a invasão. Todos trabalhavam a maior parte do tempo em silêncio. Era como se estivessem saindo de um hotel pulguento; queriam deixar aquela experiência para trás o mais rápido possível. Leonard trabalhava sozinho em sua sala. Era necessário fazer um inventário dos aparelhos e empacotá-los. Até mesmo a válvula mais insignificante tinha de ser relacionada. A despeito do que fazia e de tudo mais que o atormentava, o túnel não pesava em sua consciência. Se era correto espionar os americanos em favor dos interesses de MacNamee, não havia nada de errado em vender o túnel em prol dos seus. Mas não era isso o que ele realmente pensava. Afeiçoara-se ao lugar, amara-o e orgulhara-se dele. Agora, porém, era difícil sentir o que quer que fosse. Depois do que tinha feito a Otto, o Café Prag não foi nada. Desceu até o porão para dar uma última olhada. Havia sentinelas armados no alto e no fundo do poço. Lá
embaixo, parado com as mãos na cintura, estava Bill Harvey, o diretor da cia em Berlim e chefe da operação. Um oficial do Exército americano escutava-o com uma prancheta na mão. Harvey parecia não caber em seu terno. Fazia questão de deixar que todos em volta vissem o coldre que trazia sob o paletó. Quanto a Glass, durante todo esse tempo ele não apareceu no armazém uma vez sequer. Embora fosse estranho, Leonard não tinha tempo de pensar nisso. Continuava preocupado com sua prisão. Quando o levariam? O que estavam esperando? Pretenderiam antes fechar o cerco sobre ele? Ou teriam as autoridades soviéticas chegado à conclusão de que um corpo esquartejado serviria apenas para complicar sua propaganda vitoriosa? Talvez, e esta parecia ser a hipótese mais plausível, a polícia de Berlim Ocidental estivesse à sua espera no aeroporto, pronta para detê-lo no momento em que apresentasse seu passaporte. Vivia com dois futuros. Num deles, voltava para Londres e começava a esquecer. No outro, permanecia em Berlim e começava a cumprir sua pena. Continuava sem conseguir dormir. Enviou um cartão a Maria, informando-a dos detalhes de seu vôo, no sábado à tarde. Ela escreveu de volta, dizendo que estaria em Tempelhof para se despedir dele. Assinara “com amor, Maria” e sublinhara a palavra amor duas vezes. Na manhã de sábado, ele tomou um banho demorado, vestiu-se e fez as malas. Enquanto aguardava para entregar o apartamento ao oficial responsável por sua transferência, percorreu os aposentos um a um, como costumava fazer nos velhos tempos. Sua estada quase não deixara marcas, salvo por uma pequena mancha no tapete da sala de estar. Permaneceu algum tempo junto ao telefone. Incomodava-o agora não ter tido mais notícias de Glass, que decerto sabia de sua partida. Havia algo de errado. Não conseguia se resolver a discar o número dele. Continuava ali parado, quando a campainha do apartamento soou. Era Lofting com dois soldados. O tenente parecia desmesuradamente feliz. “Esses meus rapazes cuidarão da entrega das chaves e do inventário”, explicou ao entrar, seguido dos soldados. “Pensei em aproveitar a oportunidade para me despedir. Também arrumei um carro para levá-lo até o aeroporto. Está lá embaixo.” Os dois se sentaram na sala de estar enquanto os soldados contavam as xícaras e os pires na cozinha. “Veja só como são as coisas”, disse Lofting. “Não é que os americanos o devolveram para nós? Agora você está sob os meus cuidados.” “Isso é bom”, respondeu Leonard. “Muito agradável a festinha da semana passada. Sabe, tenho saído um bocado com aquela garota, a Charlotte. Ela dança que é uma beleza. Preciso agradecer a vocês dois por essa. Ela quer me apresentar para os pais no domingo que vem.” “Parabéns”, disse Leonard. “É uma boa moça.” Os soldados entraram na sala com os formulários que Leonard devia assinar. Ele preferiu fazer isso de pé. Lofting também se levantou. “E a Maria?” “Está cumprindo o aviso prévio, depois vai se encontrar comigo.” Soou bastante plausível quando o disse. O inventário e a entrega das chaves haviam sido concluídos e era hora de partir. Os quatro homens estavam no hall. Loft-ing apontou para as malas que jaziam ao lado da porta do apartamento. “Quer que os meus rapazes levem suas coisas até lá embaixo?”
“Ah, por favor”, disse Leonard. “Ficaria muito grato se fizessem isso.”
22.
O motorista do Humber do Exército, que na realidade estava indo a Tempelhof apanhar alguém que chegara de viagem, tinha agido como se não sentisse a menor obrigação de ajudar Leonard com sua bagagem. Em termos comparativos, até que elas estavam leves, pensou, ao ingressar no terminal com as malas colidindo contra as pernas. Contudo, ver-se novamente sujeito a um estorvo como este não deixou de ter suas conseqüências. Quando entrou na longa fila do vôo para Londres, estava desarvorado. Podia se arriscar a colocar as malas na balança? Já havia outras pessoas atrás dele. Teria como sair da fila sem levantar suspeitas? As pessoas à sua volta formavam um estranho agrupamento. À sua frente, via-se uma família de maltrapilhos, formada pelos avós de duas crianças pequenas e pelos jovens pais delas. Viajavam com enormes malas de papelão e trouxas de roupas amarradas com barbante. Eram refugiados, obviamente. As autoridades de Berlim Ocidental não podiam correr o risco de despachá-los de trem. Talvez fosse o medo de avião que fazia a família toda permanecer em silêncio, mas podia ser também a presença, às suas costas, do sujeito alto que empurrava suas malas para a frente com os pés. Atrás dele vinha um grupo de executivos franceses conversando em voz alta e, a seguir, dois oficiais do Exército britânico, que olhavam para os franceses com um sorriso desaprovador. O que esses passageiros todos tinham em comum era a inocência. Ele também era inocente, embora, no seu caso, isso demandasse alguns esclarecimentos. Mais adiante, junto a uma banca de jornais, via-se um policial militar com as mãos nas costas e o queixo empertigado. Ao lado do guichê de controle de passaportes havia alguns Polizisten. Qual deles iria arrancá-lo da fila? Quando sentiu uma mão tocar seu ombro, Leonard levou um susto e virou-se bruscamente. Era Maria. Vestia roupas que ele nunca vira antes. Era seu novo conjunto de verão: uma saia com estampas florais e um cinto largo, uma blusa branca com mangas bufantes e decote profundo em V. Em volta do pescoço, trazia um colar de pérolas falsas que ele não sabia que ela possuía. Parecia ter dormido bem nos últimos dias. Usava um perfume novo também. Ao se beijarem, ela pegou na sua mão. Estava fresca e macia. Notou o retorno de uma sensação leve e simples ou, se não tanto, pelo menos a idéia da sensação. Em breve seria capaz de sentir algo por ela novamente. Assim que estivessem longe um do outro, ele começaria a ter saudade e a dissociaria da memória daquele avental, da paciência com que ela embrulhara cada um dos pedaços de Otto e colara as extremidades dos pacotes. “Você parece muito bem”, disse ele. “Estou me sentido melhor. Tem conseguido dormir?” Era uma pergunta indiscreta. Havia pessoas por perto, às suas costas. Ele empurrou as malas para ocupar o espaço vazio que se abrira atrás dos refugiados. Respondeu: “Não”, e apertou-lhe a mão. Podiam passar por um casal de noivos, sem dúvida. Ele disse: “Bonita blusa. É nova?”. Ela recuou um passo para que ele pudesse apreciar melhor. Até a fivela do cabelo era nova, desta vez azul e amarela, mais infantil que nunca. “Quis me dar um presente. O que acha da saia?” Deu uma voltinha para ele. Estava contente e animada. Os franceses olhavam para ela. No
final da fila, alguém assoviou. Quando ela chegou mais perto, ele disse: “Você está linda”. Sabia que era verdade. Se continuasse a dizê-lo, ainda que só para si, conscientizar-se-ia da verdade indiscutível disso. “Que gentarada”, disse ela. “Se o Bob Glass estivesse aqui, ele daria um jeito de passar você para a frente da fila.” Preferiu ignorar o comentário. Ela estava usando o anel de noivado. Se conseguissem simplesmente se prender às aparências das coisas, o resto viria depois. Tudo voltaria a ser como antes. Desde que ninguém os viesse prender. Deram-se as mãos e acompanharam o andar pachorrento da fila em direção ao balcão do check-in. Ela disse: “Já falou para os seus pais?”. “Sobre o quê?” “Nosso noivado, é claro.” Pretendera fazê-lo. Tinha planejado escrever para eles no dia seguinte à festa. “Conto quando chegar em casa.” Antes, ele mesmo teria de acreditar nisso de novo. Teria de voltar ao momento em que eles subiam a escadaria do prédio da Adalbertstrasse após o jantar, ou ao momento em que as palavras dela chegaram a seus ouvidos como gotas prateadas caindo em câmera lenta, antes de ele discernir seu sentido. “Já pediu demissão?”, indagou ele. Ela riu e pareceu hesitar. “Pedi, e o major não ficou nem um pouco satisfeito com a notícia. Quem vai cozinhar os meus ovos? Quem vai se encarregar de fatiar os meus soldados?” Os dois riram. Brincavam porque estavam prestes a se separar, e era assim que noivos costumavam se comportar nessas horas. “Ele até tentou me convencer a ficar”, disse ela. “E o que você respondeu?” Ela agitou o dedo com o anel no ar. “Falei que ia pensar no assunto”, disse em tom travesso. Levaram meia hora para se aproximar do balcão. Faltava pouco para Leonard ser atendido e eles continuavam de mãos dadas. Após um interregno de silêncio, ele disse: “Não entendo como é que esse negócio ainda não veio à tona”. Ela respondeu de bate-pronto: “Sinal de que não virá nunca”. Sobreveio novo silêncio. A família de refugiados embarcava suas malas e trouxas. Maria disse: “O que é que você quer fazer? Para onde quer ir?”. “Tanto faz”, respondeu ele com um tom meio canastrão. “Pode ser na sua casa ou na minha.” Ela deu uma gargalhada. Havia algo de desvairado em suas maneiras. O funcionário da British European Airlines olhou para eles. Maria parecia muito solta, seus movimentos eram quase libidinosos. Talvez fosse alegria. Fazia tempo que os franceses haviam interrompido sua conversa. Leonard não sabia dizer se era porque todos estavam de olho nela. Pensando que na realidade não a amava, colocou as malas na balança. Estavam leves mesmo, juntas mal chegavam a dezesseis quilos. Depois de sua passagem ter sido conferida, eles dirigiram-se à cafeteria. Ali era preciso pegar outra fila, mas não pareceu valer a pena. Faltavam apenas dez minutos para o embarque. Sentaram-se a uma mesa de fórmica, onde havia xícaras de chá sujas e pratinhos com restos de bolo que haviam sido usados como cinzeiro. Maria puxou sua cadeira para perto de Leonard, colocou o braço em volta do braço dele e deitou a cabeça em seu ombro.
“Não vá se esquecer de que eu te amo”, disse. “Fizemos o que tinha de ser feito, agora vai dar tudo certo para nós.” Sempre que ela dizia que tudo iria dar certo, ele ficava incomodado. Era como atrair desgraça. Não obstante, respondeu: “Eu também te amo”. Ouviram a chamada para o vôo. Ela o acompanhou até a banca de jornais, onde ele comprou um exemplar do Daily Express que chegara naquele dia. Pararam diante do portão de embarque. “Encontro com você em Londres”, disse ela. “Lá colocamos tudo isso em pratos limpos. Aqui tem muito...” Ele sabia o que ela queria dizer. Beijaram-se, embora não houvesse nem sinal do ardor de antes. Ele deu um beijo em sua linda testa. Ia partir. Maria pegou a mão dele e a segurou entre as suas. “Ah, meu Deus, Leonard”, lastimou. “Se ao menos eu pudesse te explicar. Está tudo bem. De verdade.” Aquilo outra vez. Os três policiais militares que estavam no portão desviaram os olhos quando ele a beijou pela última vez. “Vou acenar para você do terraço”, disse ela, e se afastou correndo. Os passageiros tinham de percorrer cinqüenta metros até o fim do terminal. Assim que saiu do prédio, Leonard olhou em volta. Ela estava lá em cima, debruçada no parapeito da frente do terraço panorâmico. Quando o viu, saltitou alegremente e atirou um beijo. Ao passar por ele, os franceses dirigiram-lhe olhares invejosos. Ele acenou de volta e avançou até o pé da escada do avião, então parou e voltou-se. Soergueu o braço para acenar. Então viu um homem ao lado dela, um homem barbudo. Era Glass. Estava com a mão no ombro de Maria. Ou era seu braço que lhe cingia o ombro? Acenaram para ele como dois pais se despedindo de uma criança. Maria atiroulhe um beijo, teve a audácia de atirar o mesmo beijo. Glass disse alguma coisa, ela riu e os dois tornaram a acenar. Leonard abaixou o braço, galgou rapidamente os degraus da escada e entrou no avião. Seu assento ficava na janela, na lateral do avião que dava para o terminal. Engalfinhou-se com o cinto de segurança, evitando olhar para fora. Era impossível resistir. Eles pareciam saber exatamente qual das janelinhas era a sua. Olhavam na direção dele e acenavam seu ultrajante adeus. Ele desviou o olhar. Pegou o jornal, abriu-o com estardalhaço e fingiu ler. Que infâmia. Não via a hora de o avião se pôr em movimento. Ela tinha que ter contado, devia ter aberto o jogo antes que ele embarcasse, mas preferira evitar uma cena. Era humilhante. Enrubesceu ao pensar nisso e fingiu ler. Então começou a prestar atenção nas palavras. A matéria falava de um homem-rã da Marinha britânica chamado “Buster” Crabbe, que estivera espionando um navio de guerra russo ancorado no porto de Portsmouth. Pescadores haviam recolhido o corpo de Crabbe, sem cabeça. Kruschev fizera um pronunciamento irado e aguardava-se para aquela tarde um comunicado oficial do Parlamento britânico. As hélices do avião giravam cada vez mais rápido, transformando-se em borrões. O pessoal de terra corria para longe. Quando o avião iniciou seu avanço modorrento, Leonard lançou um último olhar pela janela. Permaneciam lá parados, juntos um do outro. Talvez ela não estivesse de fato enxergando seu rosto, pois ergueu uma mão, como se fosse acenar, e a deixou cair. Então não a viu mais.
Pós-escrito
Em junho de 1987, Leonard Marnham, proprietário de uma pequena fábrica de componentes para a indústria de aparelhos auditivos, retornou a Berlim. Não precisou mais do que o percurso de táxi entre o aeroporto de Tegel e o hotel para se acostumar à ausência das ruínas. Havia mais gente nas ruas, a cidade estava mais verde, os bondes já não circulavam. Depois, essas diferenças que saltavam à vista se dissiparam e Berlim passou a ser uma cidade européia como qualquer outra das que os homens de negócio costumam visitar. Seu traço dominante era o tráfego. Mal terminara de pagar o taxista, percebeu que cometera um equívoco em se hospedar na Kurfürstendamm. Sentira certo prazer em falar com ar de entendido e ser bem específico com sua secretária. O Hotel am Zoo fora o único de que conseguira se lembrar. Agora havia uma estrutura transparente que partia em noventa graus da fachada e avançava horizontalmente sobre a calçada. Lá dentro, um elevador panorâmico subia e descia pela superfície de um mural. Desfez as malas, engoliu seu comprimido para o coração com um copo d’água e saiu para dar uma volta. Na realidade, havia tamanha multidão na rua que era praticamente impossível andar. Usou a Gedächtniskirche e aquela estrutura medonha que fora erguida a seu lado como pontos de referência. Passou em frente ao Burger King, à Spielcenter, ao Videoclips, ao Das SteakRestaurant, à Unisex Jeans. As vitrines das lojas estavam repletas de roupas em tons pastel pueris, nas cores rosa, azul e amarelo. Foi atropelado por algumas crianças escandinavas usando viseiras de papelão do McDonald’s, que abriam caminho para comprar balões prateados gigantes de um vendedor ambulante. Fazia calor e o rugido do tráfego era incessante. Por toda parte havia som de música eletrônica e cheiro de fritura. Entrou por uma rua secundária, pensando em dar a volta em frente à estação Zoo e à entrada do jardim zoológico, mas logo se perdeu. Viu-se diante de uma confluência de ruas movimentadas de que não se lembrava. Resolveu sentar diante de um dos amplos cafés que havia por ali. Passou por três deles e todas as cadeiras de plástico reluzente estavam ocupadas. Na rua, a multidão movia-se a esmo para lá e para cá, as pessoas se comprimindo umas contra as outras quando a calçada estava tomada pelas mesas dos cafés. Avistou um bando de adolescentes franceses com camisetas rosa que estampavam a expressão “Fuck you!” na frente e atrás. Estava perplexo por ter se perdido. Ao olhar em volta à procura de alguém para perguntar o caminho, não vislumbrou uma só pessoa que não parecesse estrangeira. Por fim, abordou um casal de jovens que comprava uma panqueca com recheio de creme de menta numa esquina. Eram holandeses e foram bastante gentis, mas jamais haviam ouvido falar no Hotel am Zoo e tampouco sabiam dizer com segurança como ele devia fazer para voltar à Kurfürstendamm. Encontrou o hotel por acaso e permaneceu meia hora sentado em seu quarto, bebericando um suco de laranja que pegou no frigobar. Tentava resistir ao saudosismo irascível. No meu tempo. Se tinha a intenção de caminhar até a Adalbertstrasse, era melhor manter a calma. Tirou uma carta de dentro da pasta e enfiou-a no bolso. Não sabia ainda ao certo o que pretendia com tudo aquilo. A experiência na Ku’damm o exaurira. Seria bem capaz de passar o resto da tarde
dormindo. Mas obrigou-se a levantar e ir mais uma vez para a rua. No saguão, hesitou ao entregar as chaves. Queria experimentar seu alemão com o recepcionista, um camarada novo com um terno preto e jeito de estudante. O Muro havia sido construído cinco anos depois de Leonard sair de Berlim. Gostaria de aproveitar a oportunidade para dar uma olhada. Aonde deveria ir? Qual era o melhor lugar? Percebia que estava cometendo erros básicos, mas não teve dificuldade em compreender o que o outro dizia. O rapaz socorreu-se de um mapa. O local mais indicado era a Potsdamer Platz. Lá havia um boa plataforma de observação, cartões-postais e lojas de suvenires. Leonard se preparava para agradecer e atravessar o saguão, mas o rapaz disse: “É melhor ir logo”. “Por quê?” “Agora há pouco os estudantes organizaram um protesto em Berlim Oriental. O senhor faz idéia do que estavam gritando? O nome do líder soviético. E a polícia partiu para cima deles e os perseguiu com canhões de água.” “Li sobre isso no jornal”, disse Leonard. O recepcionista se animou. Parecia ser seu assunto favorito. Devia ter uns vinte e cinco anos, calculou Leonard. “Quem diria que um dia os estudantes de Berlim Oriental seriam reprimidos por gritar o nome do secretário-geral da União Soviética? É surreal!” “É mesmo”, disse Leonard. “Algumas semanas atrás ele esteve aqui em Berlim. O senhor deve ter lido sobre isso também. Antes de ele chegar, todo mundo dizia: Esse sujeito vai mandar derrubar o Muro. Eu tinha certeza de que ele não faria uma coisa dessas, e não fez mesmo. Mas quem garante que não fará da próxima vez, ou da vez seguinte, daqui a cinco, dez anos? Ninguém sabe aonde isso vai parar.” Do escritório interno veio um grunhido admoestatório. O rapaz sorriu e deu de ombros. Leonard agradeceu e dirigiu-se à saída. Tomou o metrô até a estação Kottbusser Tor. Ao ascender à calçada, teve de enfrentar um vento quente que vinha de encontro a ele, trazendo areia e fragmentos de lixo. Aguardava-o uma moça magrela de jaqueta de couro e calça stretch justa, estampada com luas e estrelas. Quando ele passou à sua frente, ela murmurou: “Haste mal ‘ne Mark?”. Tinha um rosto bonito, porém desgastado. Dez metros adiante, teve de parar. Seria possível que houvesse errado a estação? Mas ali estava a placa com o nome da rua. Diante dele, um monstruoso bloco de apartamentos escarranchava-se sobre a passagem que levava à Adalbertstrasse. Na base do edifício, os pilares de concreto estavam pichados. A seus pés, viam-se latas de cerveja vazias, embalagens de fastfood, folhas de jornal. Alguns rapazes adolescentes, punks supôs ele, jaziam no meio-fio, apoiados nos cotovelos. Tinham todos o mesmo corte de cabelo moicano, tingido de laranja flamejante. A relativa calvície deles fazia as orelhas e os pomos-de-adão salientarem-se de forma desgraciosa. Na alvura de suas cabeças havia um tom azulado. Um dos garotos inalava alguma coisa em um saco plástico. Sorriram para Leonard quando ele contornou o grupo para seguir em frente. Depois de passar por baixo dos apartamentos, a rua pareceu-lhe um tanto familiar. Todos os espaços vazios haviam sido ocupados. Agora as lojas, uma mercearia, um café, uma agência de viagens, tinham todas nomes turcos. Um grupo de homens turcos matava o tempo na esquina com a Oranienstrasse. A cordial ociosidade da Europa mediterrânea parecia inconvincente ali. Nos
edifícios que tinham sobrevivido ao bombardeio ainda se viam marcas de tiro. No número 84, os sinais das rajadas de metralhadora continuavam aparentes, acima das janelas do andar térreo. A grande porta da frente fora pintada de azul muitos anos antes. No pátio interno, a primeira coisa em que ele reparou foram as latas de lixo. Eram enormes e estavam apoiadas sobre pneus velhos. Crianças turcas, garotas com seus irmãos e irmãs mais novos, brincavam no pátio. Quando notaram sua presença, pararam de correr e ficaram em silêncio, observando-o passar rumo à porta dos fundos. Não corresponderam a seu sorriso. Este senhor idoso, taludo e pálido, trajando um terno escuro, impróprio para o calor que fazia, parecia totalmente fora de lugar ali. Uma mulher deu um grito lá de cima, um berro que parecia ser uma ordem ríspida, mas ninguém se mexeu. Talvez pensassem que ele tivesse algo a ver com o governo. Planejara subir até o último andar e, se parecesse apropriado, bater na porta. Porém a escadaria era mais escura e estreita do que ele se lembrava, e o ar abafadiço estava saturado de estranhos odores de comida. Deu um passo para trás e olhou por cima do ombro. As crianças continuavam de olhos cravados nele. Uma garota mais velha pegou a irmã menor no colo. Ele fitou os pares de olhos castanhos, um após o outro, depois passou por eles e voltou para a rua. Ter estado ali não o ajudou a trazer de volta seus dias de Berlim. Serviu-lhe apenas para ver quão remoto aquilo tudo parecia agora. Voltou para a Kottbusser Tor, passou de novo pela garota e deu-lhe uma nota de dez marcos, depois tomou um trem até a Hermannplatz, onde mudou de linha e seguiu para Rudow. Agora o metrô ia até lá, por isso não precisou descer na Grenzallee e tomar um ônibus como antes. Ao chegar, deparou com uma avenida de seis pistas cruzando o caminho que sua intuição lhe dizia para seguir. Virou-se e olhou na direção do centro da cidade, onde despontavam conjuntos de altos edifícios. Aguardou que o sinal de pedestres ficasse verde e atravessou. Viu-se diante de blocos de apartamentos parrudos, uma ciclovia de pavimento cor-de-rosa, fileiras bem alinhadas de postes de iluminação e carros estacionados ao longo do meio-fio. Como poderia ser diferente, o que esperava encontrar? As mesmas propriedades agrícolas espraiando-se pela campina? Passou pelo pequeno lago, a recordação que restava da vida rural preservada por uma cerca de arame farpado. Teve de consultar o guia de ruas que trouxera consigo para descobrir onde devia virar. Tudo era tão organizado, não havia espaço que não estivesse ocupado. Precisou pegar uma rua chamada Lettsberger Strasse, em cujos canteiros brotavam plátanos recém-plantados. À esquerda, erguiam-se prédios de apartamentos novos, os quais, pela aparência, tinham sido construídos a não mais que dois ou três anos. À direita, no lugar onde antes ficavam os barracos dos refugiados, viam-se as excêntricas casas de veraneio em que alguns berlinenses vinham se refugiar da vida levada entre as quatro paredes de seus apartamentos, todas térreas e dotadas de jardins fartamente cultivados. Havia famílias almoçando à sombra de árvores ornamentais e uma mesa de pingue-pongue armada no meio de um gramado imaculado. Passou por uma rede vazia, estendida entre duas macieiras. Da moita de arbustos saía fumaça de churrasco. Os sistemas de irrigação estavam ligados, encharcando alguns trechos da calçada. Por toda parte, nos mínimos detalhes, descortinava-se uma fantasia vaidosa e metódica, uma exaltação ao sucesso doméstico. Malgrado a profusão de famílias ali reunidas, um silêncio regozijante, íntimo, esparramava-se com o calor da tarde. A rua foi se estreitando até virar algo parecido com o caminho de terra de que ele se lembrava. Passou por uma escola de equitação, mansões suntuosas e então se viu caminhando em direção a um portão grande, novo em folha, pintado de verde. Uma faixa de trinta metros de
terreno baldio estendia-se para lá do portão e, mais adiante, ainda circundados pela cerca dupla, jaziam os escombros do armazém. Por algum tempo resolveu permanecer onde estava. Dali podia ver que todos os prédios haviam sido demolidos. A guarita branca dos sentinelas achava-se meio tombada, ao lado do portão interno, que se encontrava escancarado. Diante dele, afixada ao portão verde, uma placa proclamava que aquele terreno pertencia a um empreendimento hortifrutícola e solicitava aos pais que não permitissem a entrada de seus filhos na área. Ao lado do portão havia uma cruz de madeira grossa, em memória aos esforços de dois rapazes que haviam tentado escalar o Muro em 1962 e 1963, “von Grenzsoldaten erschossen”. Do outro lado do armazém, cem metros acolá de sua cerca externa, erguia-se a pálida cortina de concreto, bloqueando a vista para a Schönefelder Chaussee. Era a primeira vez que via o Muro, e não deixava de ser estranho, pensou, que isso acontecesse justamente ali. O portão era alto demais para ser galgado por um homem da sua idade. Invadindo a ruela interna da casa de alguém, pôde transpor uma mureta. Cruzou a cerca externa e parou diante da outra. Obviamente não havia mais cancela, porém o poste que lhe servia de arrimo continuava lá, resistindo ao mato. Deu uma espiada no interior da guarita arqueada. Estava cheia de tábuas. As velhas instalações elétricas continuavam no lugar, no alto de sua parede interna, o mesmo acontecendo com a ponta descascada de um fio telefônico. Avançou rumo ao antigo complexo de edifícios. Só o que restava deles eram pisos de concreto esfacelados, em cujos interstícios grassava o mato. O entulho havia sido levado até uma das extremidades do complexo, onde fora disposto em pilhas para formar uma barreira alta, frontal ao Muro. Um último ardil para atiçar a curiosidade dos Vopos. A situação do edifício principal era diferente. Aproximou-se e permaneceu um bom tempo em meio a suas ruínas. Para lá das cercas e da faixa de terreno baldio, três lados da área eram cingidos pelas casas de veraneio. O quarto dava para o Muro. Ouvia-se música de rádio soando em algum jardim. A inclinação alemã para os ritmos militares continuava presente em sua música pop. Havia uma indolência de fim de semana no ar. O que restava diante dele era um buraco enorme, uma trincheira emparedada com trinta metros de comprimento, dez de largura e talvez dois de profundidade. Estava olhando para o antigo porão, que agora jazia a céu aberto. Os grandes montes formados pela terra retirada durante a escavação do túnel continuavam todos lá, cobertos de mato. O piso do porão devia estar um metro e meio abaixo da superfície, mas era possível ver com nitidez onde passava a trilha entre os montes de terra. O poço principal, na extremidade leste do edifício, submergira sob o entulho. Era muito menor do que ele se lembrava. Ao descer, usando as mãos para se apoiar, reparou que estava sendo observado do alto de uma torre por dois guardas de fronteira munidos de binóculos. Caminhou pela trilha entre os montes de terra. Uma cotovia gorjeava lá em cima e, naquele calor, começava a irritá-lo. A rampa utilizada pelas empilhadeiras ficava aqui. A abertura do poço principiava ali. Apanhou no chão um pedaço de cabo. Era o velho cabo de três condutores, com seus fios de cobre grossos e inflexíveis. Cutucou a terra e algumas pedras com a ponta do sapato. O que esperava encontrar? Indícios de sua própria existência? Trepou na parede para sair de lá. Os guardas da torre continuavam de olho nele. Espanou um pouco da sujeira acumulada na borda de tijolo e sentou-se com os pés pendendo para dentro do porão. Este lugar tinha muito mais significado para ele do que a Adalbertstrasse. Já havia decidido não se incomodar com a Platanenallee. Era ali, no meio dessas ruínas, que ele sentia todo o peso do passado. Era ali que velhas questões podiam ser desenterradas. Tirou a carta do
bolso. Com seus endereços riscados, o envelope era por si só um objeto fascinante, uma biografia cujos capítulos correspondiam a uma sucessão de perdas. Vinha de Cedar Rapids, Iowa, e deixara os Estados Unidos sete semanas antes. A remetente estava trinta anos desatualizada. A carta fora inicialmente enviada aos cuidados de seus pais, para o endereço da casa geminada, em Tottenham, onde ele tinha sido criado e onde eles haviam vivido até a morte de seu pai, no Natal de 1957. De lá, encaminharam-na para o asilo em que sua mãe passara os últimos anos de vida. Seguiu depois para o casarão de Sevenoaks, onde seus próprios filhos haviam passado a infância e onde ele havia morado com a esposa até a morte dela, cinco anos antes. O atual proprietário guardara a carta por várias semanas e então a mandara para ele, junto com um punhado de circulares e materiais de propaganda. Abriu-a e leu mais uma vez. 1706 Sumner Drive, Cedar Rapids. 30 de março de 1987. Querido Leonard, Creio que a chance de esta carta chegar a suas mãos é mínima. Nem mesmo sei se você ainda está vivo, embora alguma coisa me diga que sim. Vou enviá-la para o antigo endereço de seus pais e só Deus sabe o que acontecerá com ela a partir daí. De qualquer maneira, redigi-a em pensamento tantas vezes que não me custa nada colocá-la no papel. Mesmo que você não a receba, talvez me faça bem escrevê-la. Quando você me viu pela última vez, no aeroporto de Tempelhof, no dia 15 de maio de 1956, eu era uma alemã ainda jovem e falava um bom inglês. Agora, poderia dizer que sou uma senhora americana de classe média, uma professora de ensino secundário que se vê cada dia mais perto da inadiável aposentadoria, e os bons vizinhos que tenho em Cedar Rapids afirmam não perceber um só resquício de alemão em meu sotaque, embora eu pense que estejam apenas querendo ser gentis. Como os anos voam! Sei que isso é o que todo mundo diz. Todos nós temos nossas contas para acertar com o passado. Tenho três filhas, e a mais nova terminou a faculdade no meio do ano passado. Criei-as nesta casa, onde moro há vinte e quatro anos. Passei os últimos dezesseis anos dando aulas de alemão e francês num colégio da cidade. Há cinco sou presidenta de uma associação que temos aqui, a Women in Church. Foi assim que transcorreram esses anos da minha vida. E todo esse tempo tenho pensado em você. Não houve uma só semana em que eu não me lembrasse do que nos aconteceu, do que poderíamos ou deveríamos ter feito, de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Jamais pude falar sobre isso. Acho que receava que o Bob percebesse a intensidade dos meus sentimentos. Talvez no fundo ele soubesse. Nunca tive coragem de falar com nenhum dos amigos que possuo aqui, embora seja um lugar pequeno e eu conheça algumas pessoas de bom coração, em quem poderia confiar. Mas teria muito o que lhes explicar. Foi tão grotesco e horrível que, por mais que me esforçasse, dificilmente alguém compreenderia. Pensava em contar para a minha filha mais velha quando ela crescesse. Ocorre que aquele tempo, o nosso tempo, Berlim, tudo ficou tão distante. Não creio que conseguiria fazer Laura de fato entender o que fizemos, por isso preferi guardar só para mim. Pergunto-me se com você não terá acontecido o mesmo. O Bob saiu da cia em 1958, e então viemos para cá. Ele montou uma revenda de máquinas agrícolas e acabou se saindo bastante bem, o suficiente para nos proporcionar uma vida confortável. Se resolvi dar aulas no colégio, foi mais por desde sempre haver me habituado a ter um emprego. É sobre o Bob que quero lhe falar, entre outras coisas. Ao longo de todo esse tempo, sempre soube que havia uma acusação no ar, uma acusação que
você me fazia em silêncio, e você precisa saber que nunca houve o menor fundamento nela. Quero tanto esclarecer isso com você. Que Deus me ajude e um dia faça esta carta chegar a suas mãos. É claro que hoje sei que você trabalhava com o Bob no Túnel de Berlim. Um dia depois de os russos terem entrado lá, ele apareceu no meu apartamento dizendo que precisava me fazer umas perguntas. Eram os procedimentos de segurança, mera rotina. É preciso que você faça um esforço e rememore todas as atribulações por que passávamos naquele momento. Você havia saído dois dias antes com as malas e desde então eu não tivera mais notícias suas. Tampouco conseguira dormir. Passei horas a fio limpando o apartamento. Levei nossas roupas a um depósito de lixo. Fui até o bairro onde meus pais moravam para vender as ferramentas. Descobri que estavam fazendo uma grande fogueira num canteiro de obras a três quarteirões do meu prédio. Arrastei o tapete até lá e pedi para alguém me ajudar a atirálo no fogo. Tinha acabado de limpar o banheiro quando dei com o Bob na minha porta, querendo entrar para me fazer umas perguntas. Ele logo percebeu que havia alguma coisa errada. Tentei fingir que estava doente. Ele disse que não levaria muito tempo e foi tão delicado e pareceu tão preocupado comigo que não agüentei mais e caí no choro. Então, antes que eu desse por mim, estava contando toda a história para ele. A necessidade de falar era muito forte. Queria que alguém compreendesse que não éramos criminosos. Contei tudo a ele, que permaneceu mudo e quedo como um rochedo. Quando soube que fazia dois dias que você tinha saído para levar as malas à estação ferroviária e que não me procurara mais, ele ficou ali sentado, balançando a cabeça e murmurando “Ah, meu Deus”, “Ah, meu Deus”. Depois disse que ia ver se conseguia descobrir alguma coisa e foi embora. No dia seguinte, ele voltou com um jornal. Estava cheio de histórias sobre o túnel de vocês. Eu ainda não sabia de nada. Bob me contou que você trabalhava no túnel e que tinha levado as malas lá para baixo não muito antes de os Vopos invadirem o lugar. Não sei o que o levou a fazer isso. Talvez você tenha endoidecido naqueles dois dias. Quem não endoideceria? Os alemães-orientais haviam entregado as malas para a polícia da Alemanha Ocidental. Aparentemente, já havia sido instaurado um inquérito por assassinato. Em poucas horas chegariam a seu nome. Segundo o Bob, ele e alguns outros tinham inclusive visto você entrar no túnel com as malas. Estaríamos em maus lençóis se ele não houvesse convencido os superiores dele de que isso acabaria prejudicando a imagem das agências de inteligência ocidentais. O pessoal do Bob mandou a polícia esquecer o assunto. Imagino que naqueles dias, com Berlim ocupada, os alemães tinham de obedecer às ordens dos americanos. Ele conseguiu encobrir tudo e o inquérito foi arquivado. Isso foi o que ele me contou naquela manhã. Também me fez jurar segredo. Eu não devia revelar a ninguém o que ele havia feito, nem mesmo a você. Bob não queria que alguém pensasse que ele tinha obstruído o curso da Justiça e não queria que você soubesse que eu estava a par do seu envolvimento no túnel. Deve estar lembrado de como ele era escrupuloso em relação ao trabalho. Pois bem, ali estávamos, eu e o Bob, falando sobre essas coisas, quando eis que me aparece você, cheio de desconfianças, com uma cara horrível. Tentei lhe dizer que não corríamos mais perigo, mas não queria quebrar minha promessa. Não sei por quê. Se o tivesse feito, quanto desgosto não teria nos poupado. Então, alguns dias mais tarde, houve aquela cena em Tempelhof. Eu podia ler seus pensamentos, e você não faz idéia de como estava enganado, redondamente enganado. Agora
que me pus a escrever é que estou me dando conta do quanto eu quero que você me ouça e acredite em mim. Gostaria muito que esta carta chegasse a suas mãos. A verdade é que, naquele dia, o Bob teve de percorrer a cidade de cima a baixo por causa das investigações referentes à invasão do túnel. Ele queria se despedir, mas chegou atrasado ao aeroporto. Acabou trombando comigo quando eu subia ao terraço. Isso foi tudo. Escrevi, tentando explicar o que tinha acontecido sem romper a promessa que eu havia feito ao Bob. Você nunca me respondeu direito. Pensei em procurá-lo em Londres, mas sabia que seria demais para mim se você me mandasse embora. Os meses foram passando e você parou de responder às minhas cartas. Acabei por me convencer de que a experiência por que havíamos passado juntos tornara inviável nosso casamento. Àquela altura uma amizade florescera entre mim e o Bob, de minha parte baseada principalmente na gratidão que eu tinha por ele. Pouco a pouco a amizade se transformou em afeto. A passagem do tempo também teve um papel nisso, e eu me sentia muito sozinha. Nove meses após sua partida, começamos a namorar. Enterrei meus sentimentos em relação a você o mais fundo que pude. No ano seguinte, em julho de 1957, nos casamos em Nova York. Ele sempre falou de você com muito carinho. Costumava dizer que um dia ainda iríamos à Inglaterra para procurá-lo. Não sei se eu teria sido capaz de enfrentar esse encontro. Faz dois anos que o Bob morreu. Teve um infarto durante uma pescaria. As meninas sofreram muito, todas nós sofremos muito, especialmente a Rosie, minha caçula, que ficou arrasada. Ele foi um pai maravilhoso para elas. Ser pai fez bem a ele, amansou-o um pouco. Mas jamais perdeu aquela energia incrível. Sempre tão brincalhão. Quando as meninas eram pequenas, era delicioso vê-lo brincando com elas. Era uma pessoa tão popular por aqui que seu funeral atraiu a atenção da cidade inteira, e eu me senti muito orgulhosa dele. Estou lhe dizendo isso porque quero que saiba que não me arrependo de ter casado com Bob Glass. Tampouco pretendo fingir que não tivemos períodos difíceis. Há dez anos, ambos andávamos bebendo demais, e houve outras coisas também. Mas acho que estávamos superando tudo isso. Sinto que estou perdendo o fio da meada. Tenho tantas coisas para lhe dizer. Às vezes penso naquele sr. Blake do andar de baixo, o tal que foi à nossa festa de noivado. George Blake. Fiquei boquiaberta quando soube que ele tinha sido condenado à prisão, já nem me lembro mais quando foi isso, deve ter sido em 1960, ou 1961. Depois ele escapou e o Bob soube que um dos segredos que ele havia revelado aos soviéticos fora o túnel de vocês. Ele estava por dentro da coisa desde o começo, desde a fase de planejamento. Os russos sabiam de tudo antes mesmo de o túnel começar a ser escavado. Quanto esforço em vão! Bob dizia que saber isso o deixava ainda mais satisfeito por ter largado tudo. Achava que eles provavelmente haviam desviado as mensagens mais importantes para outras linhas e que ficaram quietos para proteger o Blake e fazer a cia desperdiçar tempo e trabalho. Mas por que será que resolveram invadir o túnel justo naquela hora, quando estávamos metidos naquela confusão? Comecei a escrever esta carta no final da tarde e agora já está escuro lá fora. Parei algumas vezes para pensar no Bob e na Rosie, que ainda não conseguiu se refazer da perda do pai, e também em você, em mim e no tempo que perdemos com todo esse mal-entendido. É esquisito escrever para um estranho que está a milhares de quilômetros de distância. Fico me perguntando o que terá acontecido com você. Quando penso em você, não penso apenas na coisa terrível que fizemos com o Otto. Lembro daquele meu inglês carinhoso e delicado
que sabia tão pouco sobre as mulheres e que aprendeu tudo tão maravilhosamente bem! Era muito bom estar com você, nos divertíamos tanto. Às vezes é como se eu estivesse me lembrando de uma infância que houvéssemos passado juntos. Tenho vontade de perguntar: você se lembra disso, lembra daquilo? Os fins de semana em que saíamos de bicicleta para nadar nos lagos, o dia em que compramos o meu anel de noivado daquele árabe enorme (ainda tenho esse anel), as noites em que íamos dançar no Resi. A vez que vencemos o concurso de jiving e ganhamos um prêmio, o relógio de pêndulo que até hoje está guardado no sótão aqui de casa. A noite em que o vi pela primeira vez com aquela rosa atrás da orelha e mandei um bilhete para você pelo tubo. O discurso tão bonito que você fez na nossa festa, e a Jenny — lembra-se da minha amiga Jenny? —, aquela que fisgou o radialista cujo nome não consigo recordar. E o Bob não tinha também ficado de fazer um discurso naquela noite? Eu te amei tanto. E nunca me envolvi tão intensamente com nenhuma outra pessoa. Não acho que dizer isso seja um desrespeito à memória do Bob. Na minha experiência, homens e mulheres jamais chegam de fato a se entender. O que houve entre nós foi realmente muito especial. Essa é a pura verdade e não posso continuar vivendo sem dizer isso, sem colocar isso no papel. Se estou bem lembrada da sua maneira de ser, a essa altura você deve estar franzindo as sobrancelhas e dizendo: Mas como ela é sentimental! Houve momentos em que senti raiva de você. Você não podia ter se fechado em seu rancor. Ah, esses ingleses! Ah, esses homens! Se você se sentia traído, devia ter resistido e lutado pelo que era seu. Devia ter me acusado, devia ter acusado o Bob. Teríamos tido uma briga feia e então tudo se esclareceria. Mas sei que na verdade o que o fez fugir foi o orgulho. O mesmo orgulho que me impediu de ir a Londres para obrigá-lo a se casar comigo. Não tive coragem de me arriscar a receber um não. É curioso que você não conheça esta velha casa, cheia de rangidos tão familiares. Ela é branca, toda de madeira, está rodeada de carvalhos e há um mastro de bandeira no jardim, obra do Bob. Pretendo continuar morando nela, embora seja grande demais para mim. Todas as coisas com que as meninas costumavam brincar quando eram pequenas estão aqui. Amanhã a Diane, nossa filha do meio, virá me visitar com seu bebê. É meu primeiro neto. Laura ficou grávida no ano passado, mas acabou perdendo a criança. O marido da Diane é matemático. É um rapaz alto e o modo como às vezes usa o mindinho para ajeitar os óculos no nariz me faz pensar em você. Lembra o dia em que roubei seus óculos para impedir que você fosse embora? Ele também joga tênis muito bem, o que não me faz pensar nem um pouco em você! Estou divagando de novo e já é tarde. Acontece que ultimamente ando dormindo cedo, se bem que não me sinta obrigada a me desculpar por isso. Porém reluto em encerrar esta conversa unilateral com você, onde quer que você esteja, quem quer que você seja hoje. Não quero confiar esta carta ao vazio. Não será a primeira das que escrevi para você a ficar sem resposta. Sei que esse é um risco que terei de correr. Se tudo isso lhe parecer irrelevante agora e se não quiser responder, ou se essas memórias lhe são de certo modo desagradáveis, permita ao menos que aquele jovem inglês de vinte e cinco anos que um dia você foi receba os cumprimentos de uma velha amiga. E se esta carta não chegar a lugar nenhum, se jamais for aberta ou lida, que Deus nos perdoe pela coisa terrível que fizemos e testemunhe e abençoe o amor que vivemos. Com carinho, Maria Glass Leonard levantou-se, espanou o terno, guardou a carta e iniciou um lento passeio pelo antigo armazém. Seguiu mato adentro até o lugar onde ficava sua sala. Agora era um quadrado de areia oleosa. Contornou a areia para dar uma espiada nos canos retorcidos e nos manômetros despedaçados da sala das caldeiras do porão. Debaixo de seus pés havia fragmentos dos azulejos rosa e branco que recobriam as paredes dos vestiários. Olhou por cima do ombro. Os guardas da torre não pareciam mais interessados nele. No jardim de uma das casas de veraneio, o rádio agora tocava um rock-and-roll da velha guarda. Ainda apreciava esse tipo de música e lembravase muito bem daquela canção, “A whole lot of shakin’ goin’ on”. Não era uma de suas favoritas, mas ela gostava. Retornou lentamente ao longo da trincheira a céu aberto e avizinhou-se da cerca interna. Duas vigas de aço haviam sido colocadas ali, a fim de chamar a atenção dos intrusos para um buraco revestido de concreto, cheio de água escura. Era a antiga fossa séptica, em meio a cuja área de drenagem os sargentos haviam escavado o túnel. Quanto esforço em vão. Parou diante da cerca e olhou para o Muro que se erguia acolá da área acidentada e baldia. Despontando acima dele, viam-se os ramos verdejantes das árvores do cemitério. Seu tempo, o dele e o dela, como tantas terras devolutas. Havia uma ciclovia do lado de cá, que corria bem ao pé do Muro. Algumas crianças passaram pedalando e gritando umas para as outras. O sol estava quente. Esquecera-se desse calor úmido de Berlim. Fizera o certo, precisava ter vindo até ali para compreender esta carta. Não à Adalbertstrasse, mas a este lugar, entre as ruínas. O que não fora capaz de compreender na confortável copa de sua casa, em Surrey, ficara evidente ali. Sabia o que pretendia fazer. Afrouxou a gravata e limpou o suor da testa com um lenço. Olhou para trás. Havia um hidrante ao lado da guarita periclitante. Quanta falta também não sentia de Glass pegando-o pelo cotovelo e dizendo: “Escute aqui, Leonard!”. Glass amansado pelas filhas, eis aí uma coisa que ele teria gostado de ver. Leonard sabia o que pretendia fazer, sabia que em breve iria embora, mas ainda não estava com pressa, e o calor era entorpecedor. O rádio voltara a tocar animadas canções pop alemãs, em rígidos compassos dois por quatro. Pareciam estar aumentando o volume. No alto da torre, um dos guardas pegou o binóculo e espreitou languidamente o senhor de terno escuro parado à toa junto à cerca, depois se virou para falar com seu colega. Leonard permanecera um tempo agarrado à cerca. Então deixou cair as mãos e refez o caminho ao longo da vasta trincheira, cruzou os portões e avançou pelo meio do mato até a mureta branca. Assim que a transpôs, tirou o paletó e dobrou-o sobre o braço. Pôs-se a caminhar com rapidez, o que o fazia sentir uma leve brisa no rosto. Seus passos marcavam o ritmo de seus pensamentos. Se fosse mais jovem talvez houvesse saído em disparada pela Lettsberger Strasse. Graças às viagens de negócios que antigamente fazia por sua empresa, tinha a impressão de saber qual seria o percurso. Provavelmente teria de tomar um vôo até o aeroporto de O’Hare, em Chicago, e lá fazer uma conexão. Chegaria sem avisar, estava preparado para ouvir um não. Surgiria por entre as sombras dos carvalhos, passaria pelo mastro de bandeira branco e transporia o jardim ensolarado rumo à porta da frente. Mais tarde diria a ela o nome do radialista e a ajudaria a recordar que Bob Glass havia de fato feito um discurso naquela noite, um belo discurso aliás, sobre a construção de uma nova Europa. E responderia à sua interrogação: os soviéticos escolheram aquele momento para invadir o túnel porque o sr. Blake avisara a seu contato russo que um jovem inglês deixaria um equipamento de decodificação lá embaixo por um dia apenas. E ela contaria sobre o concurso de jiving, do qual ele não guardava a menor lembrança, e trariam o relógio de pêndulo do sótão e dariam corda nele e o colocariam novamente para funcionar. Precisou parar na esquina com a Neudecker Weg e descansar sob a sombra de um plátano. Voltariam juntos a Berlim, não haveria outra forma. O calor era intenso, e ainda faltava quase um quilômetro para a estação de metrô de Rudow. Fechou os olhos e reclinou o corpo contra o tronco. Era uma árvore nova, mas agüentou o peso. Visitariam os lugares que costumavam freqüentar e se admirariam das mudanças e, claro, iriam um dia até a Potsdamer Platz e subiriam na plataforma de madeira para dar uma boa olhada no Muro, juntos, antes que o pusessem abaixo de uma vez por todas.
Nota do autor
O Túnel de Berlim, também conhecido como Operação Gold, foi um empreendimento conjunto da cia e do MI6 que funcionou por pouco menos de um ano, até abril de 1956. William Harvey, diretor da base da cia em Berlim, chefiou a operação. É provável que George Blake, morador do número 26 da Platanenallee desde abril de 1955, tenha informado os russos sobre o projeto ainda em 1953, quando era secretário do comitê responsável pelo planejamento da operação. Todos os demais personagens deste romance são fictícios. A maioria dos acontecimentos também, embora eu tenha recorrido ao relato que David C. Martin apresenta sobre o túnel em seu excelente Wilderness of mirrors. A descrição incluída no pós-escrito baseia-se na visita que fiz a Altglienicke em maio de 1989. Gostaria de agradecer a Bernhard Robben, que traduziu o alemão e realizou extensivas pesquisas em Berlim, assim como ao dr. M. Dunnill, professor assistente de patologia do Merton College; a Andreas Landshoff e a Timothy Garton Ash, por seus valiosos comentários. Gostaria particularmente de agradecer aos meus amigos Galen Strawson e Craig Raine pela leitura atenta do manuscrito e pelas muitas sugestões úteis.
Ian McEwan
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















