
Arn sentia-se mal aos seus olhos e aos olhos dos sarracenos por causa das suas roupas vaidosamente francófilas que farfalhavam muito por baixo do manto quando ele se mexia. Uma expressão de insatisfação também lhe parecia ver nos cantos das bocas dos sarracenos, embora estes fizessem o máximo para esconder isso. Ele perguntou por que, sem rodeios, mais à maneira dos nórdicos do que dos árabes, qual era o motivo da insatisfação e recebeu como resposta, de forma hesitante, que uma ou outra das iguarias oferecidas na mesa podia ser impura.
Rápido, Arn quis terminar com essa questão, antes que o rumor de que os francos não comiam carne de porco se espalhasse pela festa. Existia apenas uma maneira de obter o respeito, de imediato, dos sarracenos e sua obediência.
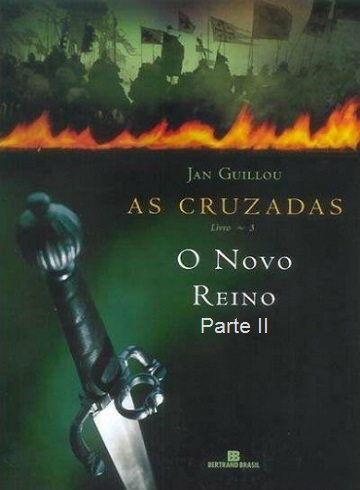
Como se ele apenas estivesse lendo alguns pedaços de uns versos em língua estranha, falou rindo para eles na própria língua de Deus.
— Em nome de Deus, Todo-Misericordioso e Clemente! — começou ele, e logo conseguiu o silêncio de toda a mesa. — Ouçam o primeiro verso da surata Al Maidah! O crentes, cumpri com vossas obrigações. Tem-vos sido permitido alimentarvos de reses de todas as espécies. Ou, por que não, as próprias palavras de Deus na surata Al Anam? Comei pois de tudo aquilo para o qual haja sido evocado o nome de Deus, se credes em Seus versículos. E que nos impede de desfrutar de tudo aquilo para o qual foi invocado o nome de Deus, uma vez que já vos foi especificado quanto ao proibido, salvo se vos virdes obrigados a tal? Muitos se desviam devido à sua luxúria, por ignorância: porém, teu Senhor conhece os profanadores.[1]
Mais do que isso Arn não precisava dizer. Nem tampouco precisava explicar como essas palavras deviam ser entendidas. Acenou com a cabeça, por amizade. E pensativamente, refletindo para si mesmo, como se tivesse lido apenas alguns versos seculares para divertir seus amigos e construtores, vindos da Terra Santa. E voltou tranqüilo para o seu lugar e o que maior admiração causou foi o mais bonito de todos os mantos folkeanos da terra e não a inesperada ação do noivo, com a leitura de versos.
Na mesa dos sarracenos não se ouviu nem mais uma queixa durante o resto da noite.
Assim que o rei Knut começou a ficar cheio de bebida, abandonou todo o mel na sua fala e enveredou por aquilo que ocupava o maior lugar nos seus pensamentos. Primeiro, dizia ele, era da maior importância que Arn se reconciliasse com o seu tio Birger Brosa. E em seguida indicou o que achava mais conveniente em termos de casamento de folkeanos, que o filho de Arn, Magnus Mâneskõld, se casasse com a sverkeriana, Ingrid Ylva. E quanto mais depressa melhor. Mas Arn logo se engasgou com o vinho.
— Ainda nem a coberta foi puxada para cima de mim e de Cecília e você já está pensando no próximo casamento. Você deve ter alguma intenção por trás disso, qual é? — perguntou Arn, engasgado antes de tossir para fora o vinho que queria entrar pelo caminho errado.
— Aquele arcebispo manhoso ali quer fazer de um sverkeriano, mais precisamente de Sverker Karlsson, o próximo soberano do reino — respondeu Knut, ao mesmo tempo que baixava a voz, embora ninguém por perto pudesse ouvir, dado o barulho que os convidados faziam.
— Em primeiro lugar, o poder está nas mãos de vocês, erikianos, e nas nossas mãos, folkeanos — respondeu Arn. — E, em segundo lugar, não entendo como poderíamos aplacar o arcebispo com o casamento do meu filho com uma sverkeriana.
— Nem é essa a nossa intenção — reagiu o rei. — A nossa intenção é evitar a guerra a qualquer custo. O que vimos durante muitos anos de guerra ninguém mais quer viver de novo. Não é o arcebispo e seus amigos dinamarqueses que queremos aplacar. São os sverkerianos. Quanto mais unidos formos pelos laços do casamento, melhor conseguiremos manter a guerra longe.
— É assim que Birger Brosa pensa, com certeza — constatou Arn.
— Sim, é desse jeito que Birger Brosa pensa. E a sua sensatez não tem dado errado há mais de vinte anos. Sune Sverkersson Sik era irmão do rei Karl. Se o arcebispo e seus amigos dinamarqueses entrarem em guerra conosco, eles vão precisar ter Sune Sik a seu lado. Não é suficiente ter o filho do rei Karl, Sverker, que eles tentam preparar para ser rei, lá no sul, em Roskilde. Sunc Sik vai pensar mais de duas vezes antes de levantar a espada contra o seu próprio genro, Magnus Mâneskõld. E é essa a nossa vontade real.
— O rei Karl, nós matamos em Visingsõ. Seu filho, Sverker, conseguiu fugir para a Dinamarca. E agora vamos amordaçá-lo, caso eu próprio me casasse, como você e Birger Brosa queriam, ou o meu filho, Magnus, se case com essa tal de Ingrid Ylva, é isso?
— Sim, é isso mesmo que eu gostaria que fosse feito.
— Você já perguntou a Magnus o que é que ele pensa sobre esse casamento encomendado? — perguntou Arn, tranqüilamente.
Mas diante dessa pergunta o rei apenas disfarçou, voltando-se e pedindo mais carne de vaca salgada e cerveja. O rei era conhecido por sempre comer grandes quantidades de carne salgada, preferindo-a à carne fresca por achar que a carne salgada ia melhor tendo cerveja para acompanhar.
Como Magnus Mâneskõld estava a menos da distância de um braço de Arn, envolvido numa conversa intensa com Erik, o conde, sobre algum assunto que, certamente, dizia respeito a tiros de flecha e a caça, aquela pergunta sobre um novo casamento arranjado podia ter logo a sua resposta. Pelo menos, foi isso que Arn imaginou, ao se esticar um pouco, pousando a mão no braço do seu filho que imediatamente interrompeu a sua conversa com o amigo e se virou.
— Tenho uma pergunta a fazer, meu filho — disse Arn. — É uma pergunta simples de apresentar, mas mais difícil de responder. Você quer se casar com Ingrid Ylva, filha de Sune Sik?
Primeiro, Magnus Mâneskõld ficou em silêncio, espantado com a pergunta. Mas logo se recompôs e apresentou uma resposta lúcida.
— Se essa é a sua vontade, meu pai, e se, além disso, é da vontade do rei, podem estar certos de que eu obedecerei — respondeu ele, com uma leve inclinação da cabeça.
— Eu não quero obrigá-lo a nada, mas apenas saber qual é a sua própria vontade — reagiu Arn, fazendo um vinco na testa.
— O meu desejo é satisfazer a vontade de meu pai e do meu rei em tudo o que estiver ao meu alcance. E casar é um dos serviços mais fáceis a que me posso prestar, a seu pedido — respondeu Magnus Mâneskõld, rápido, quase como se ele estivesse rezando, fazendo uma oração.
— Esse casamento iria fazer você feliz ou infeliz? — insistiu Arn, para contornar a notável disposição de seu filho em se submeter.
— Não ficaria infeliz — respondeu Magnus Mâneskõld. — Apenas vi Ingrid Ylva, duas vezes. Ela é uma jovem muito bonita, de cintura fina e cabelos negros, como muitas mulheres sverkerianas costumam ter, tal como a minha avó tinha, segundo ouvi falar. O seu dote não deve ser nada de se desprezar e ela é de família real. O que mais eu poderia desejar para mim?
— Muita coisa, caso você estivesse apaixonado por uma mulher, de tal maneira que todas as noites sentisse prazer em rezar por ela e acordasse todas as manhãs com vontade de a ver de novo — murmurou Arn, de olhar recolhido.
— Eu não sou como o senhor, meu pai — respondeu Magnus Mâneskõld, suavemente, e com uma expressão que era mais de compaixão e de amor do que de arrogância diante dessas perguntas estranhas que ele se esforçou por responder com todo o respeito. — A lenda do amor existente entre o senhor e a minha mãe é muito bonita e é cantada em estábulos e em mercados. E até hoje nada diminuiu nessa bonita canção sobre fidelidade, esperança e amor. E, sinceramente, eu me alegro muito com isso tudo. Mas não sou como o senhor, meu pai. Ao pensar em casamento, farei o que a minha honra exige, o que o meu clã, e o meu pai e o meu rei me pedirem que faça. Nunca pensei de outra maneira.
Arn não disse mais nada, acenou com a cabeça e virou-se de novo para o rei. Mas se conteve, antes de dizer aquilo que primeiro pensou, que o casamento com Ingrid Ylva poderia ser realizado assim que fosse tudo combinado com Sune Sik. Várias coisas fizeram com que hesitasse. Acima de tudo, a repentina constatação de que seria ele quem iria buscar a noiva num casamento como esse. Teria que ir buscar a filha de um homem cujo irmão ele ajudara a matar. Isso exigia reflexão e orações, antes de avançar, apressadamente, nesse caminho.
A noite já tinha corrido pouco mais da metade, quando a escuridão curta, finalmente, sobreveio e, então, chegou a hora da dança. Com tambores, metais e pífaros começando a tocar, as damas de honra levantaram-se da mesa da noiva, deram as mãos umas às outras e foram andando entre as mesas, com passadas que seguiam a música. Era o adeus da juventude a quem, naquela noite, iria abandonar as suas irmãs solteiras. Raramente essa dança tinha se realizado com a colaboração de artistas estrangeiros e sua música, mas, segundo a opinião da maioria, ficou ainda melhor assim.
Logo que as jovens damas terminaram a primeira volta às mesas, a música recomeçou mais rápida e mais alta na volta seguinte. Na terceira e última volta, o ritmo aumentou ainda mais e algumas das jovens tiveram dificuldades em manter o equilíbrio. Segundo a tradição, elas deviam dançar em roda, de mãos dadas, de modo que todas poderiam se ajudar umas às outras, ao dar as passadas rápidas, mas o salão de Arnäs estava cheio demais, não sendo possível, portanto, seguir por completo as antigas regras.
Depois das três voltas, todas as jovens damas pararam, afogueadas e de rostos vermelhos, convidando, então, Cecília Rosa, a rainha e Ulvhilde Emundsdotter para descer e se juntarem a elas, de mãos dadas. Com a rainha Blanka na frente, Ulvhilde depois e a noiva por último, todas avançaram, então, lentamente, pela sala e saíram pelo portão.
Assim que o portão se fechou, chegou mais cerveja de todos os lados e o barulho geral aumentou, de tal maneira que ficou até difícil para cada um ouvir o que o outro estava dizendo, mesmo que estivesse bem a seu lado e até falando aos gritos.
Já os canecos iam pela metade, quando o velho senhor Magnus se levantou e, apoiado no seu filho Eskil, se dirigiu para a mesa do noivo. Com um gesto, convidou, então, o seu filho Arn a descer, depois o rei, depois ainda Erik, o conde, Magnus Mâneskõld e também o monge.
Com votos de felicidades e brados alegres de todos os lados, alguns descarados, da espécie que a muita cerveja costuma estimular, Arn avançou lenta e solenemente pela sala, sendo o último de uma fila em que o rei seguia em primeiro lugar. No pátio, lá fora, todos os convidados estavam agora em cima das mesas e dos bancos para ver a curta procissão passar na direção final do quarto e da cama onde o casamento iria se consumar.
A viagem não foi longa, apenas até o outro extremo da casa-grande, onde havia uma escada que conduzia para o quarto dos noivos.
O velho senhor Magnus teve dificuldade em subir a escada, mas não desistiu amparando-se em mãos que o ajudaram na empreitada. Na antecâmara, antes de entrar no quarto, a movimentação ficou difícil, já que todos que vieram começaram a tirar a roupa de Arn, coisa que este tentou evitar. Seu pai, no entanto, brincou, dizendo que agora já era tarde para começar a reclamar.
De Arn, retiraram, então, todas as roupagens estrangeiras e enfiaram pela cabeça dele uma camisa longa e branca, de linho, com uma grande abertura no pescoço. E só então a porta para o quarto, enfim, se abriu.
Lá dentro, já deitada na cama, estava Cecília Rosa, também vestida de linho branco, com o cabelo solto e os braços ao longo do corpo. E aos pés da cama estavam a rainha, Ulvhilde e as seis damas de honra. O rei e o senhor Magnus lideraram, então, Arn, cada um pegando num dos braços dele, até a cama, convidando-o a se deitar ao lado de Cecília. Ao obedecer ao convite, Arn não pôde evitar que as suas faces corassem, do jeito que as de Cecília também estavam coradas. Mas se deitou, os braços esticados ao lado do corpo, enquanto os seus acompanhantes foram se colocar também aos pés da cama.
Todos ficaram nas suas posições por um longo tempo sem dizer nada. E Arn, que não fazia a mínima idéia do que se esperava dele ou de Cecília, desviou o rosto, preocupado, e lhe fez uma pergunta, a que ela não pôde responder. Parecia que todos os seus parentes e amigos esperavam por alguma coisa, embora nem Arn nem Cecília entendessem o que fosse.
Eles acharam que a espera demorou dolorosamente, antes que ficassem sabendo. Era o arcebispo. Seus passos irregulares se ouviram muito antes de ele entrar cambaleante no quarto, com o capelão lhe dando apoio.
O grande momento tinha chegado. O arcebispo levantou a mão e deu a sua bênção, ainda ofegante pela subida da escada. A rainha pegou um grande e bonito cobertor de um lado e o rei, do outro, e os dois cobriram, então, lentamente, o casal deitado, Cecília e Arn.
Estava consumado o casamento, na presença de doze testemunhas. Com isso, Cecília Rosa e Arn Magnusson se tornaram, finalmente, marido e mulher. Segundo as regras da Igreja, até que a morte os separasse. Segundo as leis da Götaland Ocidental e dos ancestrais, até que alguma razão surgisse para separá-los.
Seus amigos e parentes, todos lhes desejaram felicidades, cada um de per se, com uma vênia. E todos, enfim, saíram do quarto, deixando os noivos para a sua primeira noite juntos.
O quarto estava iluminado, tanto por tochas de piche em contentores de ferro quanto por velas de cera. Os dois ficaram quietos, quase rígidos, olhando para o teto, sem que nem um nem outro dissessem qualquer coisa, durante um bom momento.
A viagem deles até essa cama foi longa. Agora, finalmente, tinham chegado lá, pela vontade de Deus. Nossa Senhora tinha-lhes prometido isso e eles próprios rezaram todas as noites, durante mais de vinte anos, para que isso acontecesse. Mas também porque a paz e a harmonia do reino o exigiu. E ambas as famílias o decidiram. O rei e a rainha puxaram o cobertor sobre eles. Mais marido e mulher do que isso ninguém poderia ser.
Cecília pensava que a tortura sentida por tanto tempo, desde o momento que ela o viu pela primeira vez, chegando a cavalo, perto de Näs, e todas as barreiras levantadas depois, tudo agora tinha passado, tão rápido quanto o vôo da cegonha em fuga. Tantas coisas aconteceram a ela, conforme a vontade de outros e as exigências que se fizeram, e a deixavam como se ela flutuasse numa corrente revoltosa, sem poder ter vontade própria, tal como aquela folha de árvore descendo pelo córrego, na primavera, que ela viu ao viajar a cavalo entre Näs e Riseberga. Aquele momento em que relembrou a folha parecia agora estar muito longe no tempo. E, no entanto, tinha acontecido há pouco. O tempo corria vertiginosamente e ela tentava segurá-lo, aprisioná-lo, fechando os olhos e relembrando o momento em que viu Arn chegando na sua direção num cavalo negro com a crina prateada. Mas logo que ela fechou os olhos a cama pareceu andar às voltas como na roda de um moinho. E ela teve de abrir logo os olhos para fugir de ter uma vertigem.
Arn pensava no amor tão forte que sentira dentro de si durante tantos anos e que jurara jamais trair. Amor que, nos últimos tempos, fora empurrado para trás por tantos acontecimentos que nada tinham a ver com o amor. Apenas poucos momentos atrás, ele estava falando de casamento, que Birger Brosa considerava como o melhor remédio contra a guerra, como se o casamento não tivesse nada a ver com o amor. E assim falava até o seu filho Magnus, seu e de Cecília, a respeito de amor, quando Arn lhe perguntou o que pensava de um casamento dele com Ingrid Ylva. Era como se essa luta permanente pelo poder tivesse jogado o seu amor na sujeira e o apoucasse.
E a parte carnal do amor, aquela que ele tinha aprendido a afastar e conter, com orações, água fria, cavalgadas à noite e todas as espécies de artifícios, aquela que ele aprendera a ver como pecado e tentação, essa, agora, estava sendo abençoada pela própria Mãe de Deus. Havia uma festa esperando, no momento em que ele se unisse pela carne com Cecília, ainda que na missa do dia seguinte o noivo fosse até a igreja de Forshem para purificação.
Ele tentou relembrar o momento em que os dois estiveram juntos e que na maior alegria e prazer consumaram o ato, mas era como se os portões para essa lembrança tivessem sido fechados à chave por todas as muitas orações e noites de angústia numa pequena cela de pedra ou no dormitório, junto com outros irmãos cavaleiros.
Ele sentiu que começava a suar e, cautelosamente, desceu a grossa coberta que o rei e a rainha tinham puxado sobre eles até o nariz.
— Obrigada, meu amor — disse ela.
Mais ela não disse, como se a timidez de ambos a contivesse. Mas foi uma agradável sensação de frescura ouvir a sua voz. E mais ainda ela expressar aquelas palavras que agora tinham todo o direito de utilizar.
— Imagine que agora, finalmente, vamos poder dizer isso, meu amor — respondeu ele, com voz rouca e decidido, rapidamente, a não deixar que o silêncio viesse a dominar de novo. — Quando, finalmente, chegamos a este ponto, acho que devemos primeiro agradecer a Nossa Senhora por Ela nos ter protegido por toda essa nossa longa viagem, certo? — continuou ele.
Cecília fez um movimento como se ela quisesse logo saltar da cama para se ajoelhar e rezar, mas ele estendeu a mão e a conteve.
— Me dê a sua mão, minha querida — disse ele, olhando pela primeira vez nos seus olhos, quando ela se voltou para ele. — Desta única vez, tenho a certeza de que Nossa Senhora nos quer ver assim no momento de expressar nossos agradecimentos a Ela.
Conservando a mão de Cecília entre as suas, Arn fez, então, uma longa oração na linguagem da Igreja que ela obedientemente repetiu em voz baixa.
Mas depois da oração foi como se a timidez voltasse para os dominar de novo. Arn olhou intensamente a mão de Cecília entre as suas, sem conseguir dizer nada. Era a mesma mão de antes, embora as veias estivessem agora mais aparentes, os dedos tivessem ficado mais grossos e as unhas estivessem quebradas aqui e ali em conseqüência do trabalho ao serviço do Senhor que ela realizara no convento de Deus.
Ela notou o seu olhar e compreendeu o que ele pensava a respeito da sua mão. Em contrapartida, ela observou as mãos dele e pensou que eram as mesmas de antes, mas mais fortes graças a todo o trabalho nas forjas e às lutas com a espada na guerra, mas com os nós deformados e cicatrizes brancas que denotavam as conseqüências da sua longa penitência, cheia de privações e muitas dores.
— Você é o meu Arn e eu sou a sua Cecília — disse ela, finalmente, visto que ele parecia não arranjar coragem para falar de novo. — Mas será que você é o mesmo Arn e eu, a mesma Cecília, de quando nós nos separamos, na grande dor da despedida, diante dos portões de Gudhem?
— Sim, somos os mesmos — respondeu ele. — As nossas almas são as mesmas, os nossos corpos ficaram mais velhos, mas os corpos são apenas a casca da alma. Você é a Cecília que eu recordo, você é a Cecília que tentei imaginar nos meus sonhos e nas minhas orações, quando queria saber como você seria. Você não pensou como eu?
— Tentei — disse ela. — Eu recordava sempre aquele verão em que decidiu deixar crescer o cabelo e este voava, sempre que você corria rápido a cavalo. Eu recordava sempre o seu rosto desse momento. Mas não conseguia ver você diante de mim como a pessoa que devia ser ao voltar para casa, o mesmo Arn, mas mais velho.
— Eu recordava durante muito tempo o seu rosto tal como ele foi — disse ele. — O seu cabelo e os seus olhos e todas as pequeninas marcas do sol no seu nariz, eu lembrava sempre como eram. Depois, com o correr dos anos, fui tentando imaginar como você seria, mais velha, a mesma Cecília, porém mais velha. Não era fácil e a imagem foi ficando cada vez mais difusa. Mas quando a vi de novo pela primeira vez perto de Näs, compreendi que você era muito mais bonita do que eu ousava imaginar. As rugas, as pequeninas rugas à volta dos cantos dos seus olhos, fizeram com que você ficasse mais bonita de uma maneira mais inteligente e sensata. Ah, como eu gostaria de poder dizer isso em francês! Desculpe, minhas palavras se parecem com rústicos tamancos, quando falo na nossa língua tão estranha.
— Foram palavras bonitas e eu as entendi muito bem, embora nunca tenha ouvido falar das palavras se parecerem com tamancos — respondeu ela, com uma risadinha contida.
Mas essa risadinha veio como um alívio para ambos. Ao mesmo tempo, ambos inspiraram profundamente e, de maneira lenta, foram deixando sair o ar dos pulmões, exatamente como se tivessem aproveitado para relaxar. E então, disso mesmo riram ambos. E riram mais. E ela aproveitou para se aproximar dele, cautelosamente, na enorme cama em que estavam.
— E ainda o meu rosto? — perguntou Arn, sorrindo de alívio e satisfação. — Às vezes, receava que essas feridas e cicatrizes fizessem com que a minha querida não me reconhecesse mais quando chegasse o momento do reencontro. Mas reconheceu, certo?
— Eu o reconheci já à distância de um tiro de flecha, antes de ver o seu rosto de perto — respondeu ela, excitada. — Quem o vê a cavalo uma vez, logo sabe que é você que está chegando. Foi como se tivesse caído um raio de um céu claro e sem nuvens. O momento em que vi você e reconheci, meu amor, tão lindo poder dizer essas palavras, jamais vou poder descrever corretamente, com as palavras certas.
— Mas quando você viu de perto o meu rosto, eu a assustei, certo? — insistiu Arn. Ele riu abertamente, mas Cecília notou um sinal de preocupação no olhar dele.
Ela puxou, então, pela sua outra mão que estava escondida, suada, atrás das costas. Secou a mão no lençol no caminho para o rosto dele que ela acariciou por momentos em cima da cicatriz, sem dizer nada.
— Você disse que as nossas almas eram parecidas — retomou ela, .. finalmente, pensativa. — Mas diz-se também que os olhos são o espelho da alma e os seus olhos suaves são os mesmos que eu conheci antes. Os sarracenos o feriram, deram-lhe golpes de espada e de lança durante muitos anos, isso você sabe que eu vejo. Mas o que são minhas rugas nos olhos em comparação com isso! Que força pacífica o seu rosto revela, meu amor. O que não contam as suas feridas a respeito da eterna luta contra a maldade e os sacrifícios feitos, que apenas os melhores e os mais fortes de fé sabem fazer. Ao seu lado, vou andar sempre de cabeça erguida, já que não existe no nosso reino um homem tão belo quanto você.
Arn ficou tão intimidado com essas palavras que ela viu logo que ele não iria poder responder fosse o que fosse. Receando que o silêncio se infiltrasse entre eles de novo, Cecília se inclinou sobre ele e o beijou com os lábios secos de medo, primeiro sobre a testa, depois na face e a seguir ela fechou os olhos e procurou a sua boca.
Ele tentou beijá-la de volta, tal como sonhava ter feito quando tinham dezessete anos de idade e tudo era mais fácil. Mas tão fácil quanto antes não era, de fato, a situação. Ele manteve seus lábios contra os dela, mas um estranho desespero crescia dentro de si, ao mesmo tempo que, com toda a cautela, ele acariciava com a mão calosa o seio dela.
Cecília tentou evitar ficar tensa e dar a sensação de medo. Mas ela tinha ficado de olhos fechados por muito tempo, tanto que a sua cabeça começou a rodar pelo muito vinho ingerido. De repente, ela teve de se desligar e levantar, correndo para a escada onde acabou vomitando em alto e bom som sem que pudesse se conter.
Arn continuou deitado na cama como que paralisado pela vergonha. Mas, em breve, chegou à conclusão que não podia ficar ali sem agir, enquanto a sua amada passava por dificuldades. Pulou da cama e foi até a escada, tomando Cecília, carinhosamente, pelos ombros. Depois, abriu a porta para a escada externa e gritou, mandando trazer água fria. Como ele esperava, havia escravas da casa do lado de fora que logo correram, obedecendo à ordem.
Momentos depois, ambos estavam de novo deitados na cama, os dois de temperatura mais baixa pela água fria ingerida e cada um com uma grande jarra à mão.
Cecília sentiu vergonha durante bastante tempo, nem se atrevendo a enfrentar o olhar do seu amado. Ele consolou-a, fez-lhe carícias de início, mas logo começou a rir. Não demorou muito e também ela começou a rir sem parar.
— Temos todo o resto da vida pela frente para nos amarmos como fizemos um dia — disse ele, fazendo novos carinhos sobre a testa suada dela. — A isso, a gente se acostuma nos mosteiros e conventos. A mesma coisa acontece entre os templários. Afinal, a gente vive como monge. Mas não é preciso ter pressa em reaprender aquilo que uma vez fizemos com tanta facilidade.
— Embora sem beber um barril de vinho e comer um boi, primeiro — disse Cecília.
— Vamos tentar primeiro com água fria — disse Arn, rindo, ao mesmo tempo, de um pensamento longínquo que passou pela sua cabeça cheia de vinho.
O que Arn achou de tão engraçado com a água em vez do vinho, Cecília não entendeu, mas ela continuou rindo à socapa, de forma que conseguiu provocar mais riso da parte dele. E então os dois acabaram rindo muito e se abraçando.
No dia seguinte, já tarde, surgiram as doze testemunhas, de olhos vermelhos e oscilando muito, tal como a tradição exigia. Arn teve de levantar-se e receber uma lança que ele devia jogar de volta pela fresta que servia de janela. Sobre esse assunto alguém brincou com voz entrecortada, que a distância da cama para a fresta era tão curta que nem Arn Magnusson podia errar, já que era reconhecido como lançador incompetente.
E não errou. Portanto, o presente da noiva estava confirmado. Forsvik pertencia agora e para sempre a Cecília Algotsdotter e a seus herdeiros.
No FINAL DO MÊS DE SETEMBRO, chegou o período de transição entre a nova colheita e o fim da safra anterior, na Götaland Ocidental. Os armazéns estavam vazios, mas o trabalho nos campos era intenso e a colheita devia ficar pronta dentro de doze dias. Foi um verão muito quente, inusitadamente quente, e os grãos e o feno tinham amadurecido mais cedo. Todo o feno já tinha sido recolhido. E já havia passado um mês do casamento de Arn e Cecília e estava na hora de fazer a terceira purificação da noiva. A primeira purificação ocorreu no dia seguinte e a segunda, uma semana depois.
Mais pura do que a noiva estava antes, jamais poderia ficar, mesmo que qualquer padre lesse sobre ela e a encharcasse de água benta, pensava Cecília. Ela sentia uma secreta vergonha desses atos religiosos de purificação involuntária, ainda que tivesse dificuldades em admitir isso para si mesma nos raros momentos em que refletiu, sozinha, no primeiro mês, em Forsvik. Sentia também como um pecado ao avesso o fato de ela e Arn não terem se unido pela carne e ainda que Cecília pusesse mais a culpa em si mesma do que em Arn, ela não conseguia nenhuma luz que a levasse a melhorar o seu comportamento nesse aspecto.
Para Arn, era como se estivesse trabalhando em desespero. Ele se dedicava ao trabalho desde que amanhecia, depois das orações da manhã. E ela apenas o via por alguns curtos momentos durante a refeição da manhã e ao meio-dia. E depois das orações no final da tarde, ele ia até a praia e ficava nadando no lago, o Bottensjö, para se limpar do suor e da poeira. E quando chegava e entrava no quarto onde ela já se encontrava, já havia escurecido e o que ele falava era pouco e logo caía num sono pesadíssimo.
Era bem verdade o que ele dizia, que era uma época especial, uma época para trabalhar duro, mais do que nunca, para que tudo estivesse pronto quando o inverno chegasse. Muitas novas almas precisariam de um teto sobre a cabeça e de calor. Especialmente de calor, já que os estrangeiros ainda desconheciam o que era viver num inverno nórdico. As forjas e a vidraria tinham de ficar prontas antes do inverno chegar, para que, então, os trabalhos continuassem durante o inverno, em vez de se passar o tempo, comendo, dormindo e se defendendo do frio congelante.
Ele se jogava entre puxar troncos de madeira e fechar as frestas com linho e piche. Ou ainda levantar muros de tijolos nas despensas e nos fornos para a ferraria e a vidraria. Toda vez que os barcos chegavam a Forsvik, ele ia ver quanto chegava de novos tijolos. A falta de tijolos atrasava o trabalho mais do que qualquer outra coisa. Por muito que tivessem procurado, não haviam encontrado a argila boa, a não ser em Braxenbolet, ao sul de Viken. Ao longo das praias, longas e lamacentas, do mar em processo de ressecagem é que se encontrava a boa argila. Mas era impossível embarcar a argila nos barcos e levá-la para Forsvik. A argila mole não dava para embarcá-la junto com as outras mercadorias que, permanentemente, viajavam nos barcos de Eskil. Por isso, Arn foi obrigado a construir uma olaria simples em Braxenbolet, de modo que todos os barcos levassem tijolos para Forsvik, mas, às vezes, não levavam mais do que dez tijolos. Em compensação, era obrigado a mandar preparar comida e bebida, em especial cerveja, e embarcar tudo de volta para que os homens na olaria, suados e sujos pelo trabalho nos fornos de tijolos, fizessem pelo menos as suas refeições do dia.
Na vida dura que levavam em Forsvik, em que poucas eram as palavras trocadas entre eles e na sua maior parte versavam sobre assuntos áridos, dizendo respeito aos trabalhos do dia e do dia seguinte, Cecília procurou consolo na idéia de que seria por pouco tempo, de que tudo passaria e viria a ser diferente quando a escuridão do inverno pairasse sobre a região. Ela se satisfazia também em ver como tudo estava sendo feito e, à noite, ao se recolher no quarto deles, sentia o prazer de inspirar o aroma da madeira recém-cortada e das suas resinas.
Arn decidiu que ele e Cecília, sozinhos, deviam morar em uma casa menor, edificada sobre chão de pedra, perto da casa-grande, no início da encosta que dava para a praia no lago, o Bottensjö. No primeiro dia em Forsvik, antes de ele ser atacado pela vontade inquebrantável de trabalhar todas as horas entre as orações da manhã e do fim da tarde, já durando um mês, ele mostrou a ela tudo o que iria ser construído. E não era pouco para mostrar, visto que era uma nova Forsvik que estava crescendo de ambos os lados da antiga.
A maior de todas as surpresas foi a de ele construir uma casa apenas para eles dois. Tal como ela, ele tinha pavor em seguir a antiga tradição do senhor da casa e sua esposa dormirem entre escravos e criados na casa-grande, no lugar mais quente. Dormitórios com irmãos cavaleiros eram uma coisa a que ele estava acostumado, explicou ele. E cela própria era outra coisa a que ele e também ela estavam acostumados por muitos anos de vivência. No entanto, ele achava que nem o ela nem ele gostariam de ficar dormindo juntos entre os outros como se todos estivessem num grande banquete.
A casa deles era muito menor do que uma casa-grande, tendo duas grandes divisões. Não havia nada parecido como casa para um grande senhor e sua esposa em toda a Götaland Ocidental, nem Cecília precisava muito tempo para se convencer disso.
Quando ele a fez entrar por uma pequena porta para uma câmara de roupa, ela ficou maravilhada ao ouvir o barulho de água corrente como se fosse num córrego. Ele tinha deixado a água correr, entrando por uma parede de tijolos para dentro de casa. Entrava por um buraco e corria para fora através de outro buraco na parede oposta, passando pela porta e por baixo de uma ponte. Em dois lugares, foram feitos buracos revestidos de argila, de modo que a pessoa podia estender as mãos e banhá-las na água corrente. Por cima de um dos buracos, havia uma abertura com moldura em madeira e, ao lado, pendurado na Parede, havia um pano branco de linho para se enxugar e num prato de madeira por baixo do pano estava um pedaço do que parecia ser cera de vela, a que ele chamava de savon e que a pessoa podia usar para se limpar. Na outra abertura por onde corria água, havia outra espécie de bacia mais grosseira, feita de argila, coberta com um pedaço de madeira bem liso onde a pessoa podia se sentar. Primeiro, Cecília achou que não tinha entendido direito, mas quando ela apontou para o vaso e, insegura, perguntou para que servia, ele riu e disse que era precisamente para aquilo que ela estava pensando, era uma retrete. Aquilo que abandonava o corpo era logo levado pela água e desaparecia através da parede, saindo da casa e indo parar num córrego já bem longe da casa que levava tudo e desaguava no lago.
Ele disse não estar certo de que a água se mantivesse correndo durante todo o inverno, ainda que as ligações tivessem sido feitas bem fundo no terreno. Mas para que a água chegasse à casa era preciso conduzi-la por uma construção para a qual ainda não havia nome na língua nórdica, mas que em latim se chamava aqueduto, A dificuldade o estava, justamente, em manter a água corrente, mesmo quando tivesse de assomar na terra, atingindo a superfície. Como seria possível manter a corrente de água sem congelar era uma coisa que teria de ser vista lá para o meio do inverno. E se não houvesse sucesso na primeira tentativa, havia que se refazer tudo.
Cecília ficou tão excitada com tudo quanto viu que até se esqueceu de entrar no quarto de dormir e correu antes para fora da casa para olhar a água corrente saindo pelo respectivo buraco na parede. Arn veio alegre atrás dela, abanando a cabeça e explicou como tudo funcionava.
Era como em Varnhem ou Gudhem, onde havia água corrente vinda de um lugar mais alto para mais baixo. Em Forsvik, a água do lago Bottensjö ficava mais baixa do que a de Viken e todos os canais que se cavassem nessa direção se transformavam em novos cursos de água corrente. Em Varnhem, eles puderam construir as correntes de água usando chumbo desde o início. A água entrava pelo mosteiro através de tubos de chumbo. Em Forsvik, foi preciso usar tijolos em vez de tubos de chumbo, mas, em compensação, as correntes de água eram mais fortes e podiam enfrentar melhor o congelamento. Também não ficavam entupidas com tanta facilidade.
Cecília tinha muitas perguntas a fazer sobre essa água maravilhosa e muitas recordações de como era no convento, em dias frios de inverno, ir até o lavatório e ver que a água não caía, estava congelada. Na sua nova casa, portanto, ela poderia levantar-se da cama e dar apenas alguns passos, ou seja, se a necessidade surgisse de se aliviar, não era preciso ir lá fora, no meio da noite sem estrelas de inverno, colocar botinas nos pés e sair correndo à procura de um galho e de uma cova.
Ao pensar em voz alta em como era sair da cama quente para entrar na noite fria de inverno, ela se lembrou de que tinha esquecido de ver o resto da casa e voltou rindo para ver o quarto de dormir.
Este quarto tinha uma das paredes totalmente construída em pedra e no meio dessa parede havia uma grande lareira com duas chaminés e uma cúpula redonda, montada com fios de ferro entrelaçados, para aspirar toda a fumaça produzida. O chão era de madeira, bem tampado nas juntas com piche e resina, linho e musgo, exatamente como os caminhos feitos em madeira. Embora uma grande parte do chão não se visse, em função dos grandes tapetes, em padrões estrangeiros, em preto e vermelho.
Arn contou que tinha trazido bastantes tapetes desse tipo quando voltou para casa, não apenas para uso pessoal, mas também para uso dos seus homens, vindos com ele da Terra Santa. Era uma maneira de fazê-los ficar mais satisfeitos do que imaginavam, vendo que, durante as noites de inverno na Escandinávia, tinham o chão coberto do jeito que lhes fazia lembrar o país de origem.
O lugar à volta da lareira, por enquanto, era apenas um buraco tampado com madeira. Arn explicou, incomodado, com um encolher de ombros, que as pedras de calcário que deveriam cobrir aquela parte do quarto ainda não tinham chegado. Mas muitas iriam ser as noites em que a lareira seria acesa e, portanto, por várias razões, era melhor ter aquele pedaço de chão coberto com pedra.
No quarto estava uma grande cama, mandada fazer por Arn e igual à cama de noivado em Arnäs. As paredes eram nuas, com exceção da que dava para oriente e para baixo, para o lago. Havia uma grande abertura, com janelas que podiam ser fechadas por dentro ou por fora. Arn disse que também iria ficar melhor, assim que eles pudessem começar a trabalhar na vidraria. A vantagem de uma abertura tão larga estava na luz que entrava no quarto e o sol da manhã que chamava para o trabalho logo que nascia. A desvantagem era fácil de deduzir, pensando no frio de inverno e em correntes de ar. Mas com o vidro e o fechamento das juntas, a abertura iria ficar muito melhor e, além disso, ainda era verão.
Por toda a casa, sentia-se o cheiro forte de madeira, resina e piche. Do lado de fora, o cheiro de piche ainda era mais forte, visto que todas as casas novas estavam cobertas por uma espessa camada do produto. Não era apenas para evitar que as madeiras apodrecessem ou para construir para a eternidade, tal como os noruegueses construíam as suas igrejas, explicou Arn. Era importante preencher todas as pequeninas brechas entre as toras montadas na horizontal, fazendo de paredes. Em especial, era preciso ter muita atenção quando as madeiras estavam ainda cruas, o que não era o mais apropriado, já que a madeira diminui ao secar. Mas no momento não havia muito por onde escolher. Seria ter casa com madeira crua ou nada de casa. E a espessa camada de piche, de qualquer maneira, faria com que as paredes ficassem bem estanques.
Ele levou-a então para a casa seguinte, que era uma casa-grande, tão grande quanto a antiga casa-grande de Forsvik. Para surpresa dela, ele mandou que ela esperasse fora, enquanto ele entrava por momentos. Logo a seguir, saíram da casa dois estrangeiros e só então Arn pegou na mão de Cecília e a levou para dentro.
Neste caso, a casa-grande foi construída como a de Arnäs, com uma das paredes totalmente de pedra e um gigantesco espaço usado como lareira com uma chaminé para absorver toda a fumaça, igual à que tinham em sua casa. A água saía por uma parede de tijolos do mesmo jeito e da mesma forma que o chão estava quase totalmente coberto por tapetes nas cores vermelho-escura e preta. Ao longo das paredes mais compridas, as camas ficavam três a três na altura e com cobertores desde as camas de cima até o chão. Uma parte desses cobertores era colorida, tanto quanto os tapetes. Enquanto isso, os outros cobertores eram cinzentos e sem vida. Arn puxou por ela até um desses cobertores cinzentos e pediu-lhe que os apreciasse pelo tato. Sentia-se que eram grossos e macios. Segundo a explicação de Arn, eram feitos de uma nova mercadoria, o felt, ou seja, feltro, uma das novas produções de Forsvik.
A casa-grande seguinte, para surpresa de Cecília, não era para seres humanos, mas para animais. Era ali que os mais de trinta cavalos deviam ficar durante o inverno e era como se cada cavalo tivesse a sua cela. O lugar mais afastado da casa era para as vacas, e todo o andar de cima, sobre um teto baixo, estava reservado para armazenar a ração do inverno. O chão ainda era de terra batida, mostrou Arn, mas iria ser substituído por um chão empedrado, já que esse era mais fácil de manter limpo.
As três casas novas estavam situadas ao lado da antiga casa, quadrada, da velha Forsvik. Arn pegou novamente a mão de Cecília e levou-a para a praça, passando rápido pelas casas antigas que iriam servir para uso dos escravos e do pessoal do burgo no inverno, mas ainda não existia lugar para banquetes ou convidados.
Mais interessado estava Arn em mostrar uma fila de casas novas, menores, que cresciam do outro lado do antigo burgo. Já havia três forjas a funcionar, uma para gusa, outra para a liga a usar em casa e outra ainda para armas e fio de arame. Na continuação, estava a vidraria que em breve ficaria pronta, uma usina de felt onde trabalhavam dois estrangeiros, tentando seguir o ritmo de baques pesados e de canções típicas, duas casas onde seria desenvolvido o trabalho fino com as mãos, o que Cecília achou uma descrição meio obscura, uma olaria de cerâmica e depois, derrubaram-se algumas casas antigas para abrir mais lugar ao longo da mesma fila. Em alguma das casas novas, pensou-se acomodar a yconoma de Forsvik e suas máquinas de calcular. A não ser que ela quisesse que tudo isso ficasse em sua própria casa?, perguntou ele, rápido, para mostrar que era ela, sem dúvida, a dona do burgo e aquela que decidia. Cecília afastou com ambas as mãos a idéia de trabalhar no lugar onde dormia e então ele puxou novamente por ela, aliviado, em volta da fila de casas menores onde o ritmo de trabalho tinha começado a crescer.
E então chegaram à grande mudança, contava ele, orgulhoso. Junto da nova fila de oficinas, estava situado o quintal, com macieiras e a horta onde se plantavam cebolas, alho-porro e beterrabas brancas e vermelhas, explicou ele, com uma olhadela tímida na direção dela. A questão era arranjar uma pessoa competente em plantações como ele entendia que ela era e que pudesse salvar o máximo possível de tudo o que ali existia e fizesse o transplante para outro lugar quando chegasse a hora de plantar tudo de novo.
Cecília achou, então, que ele estava indo longe demais na sua ânsia de criar. Queria dizer com isso que a maioria dessas velhas macieiras iria se perder, caso se tentasse transplantá-las para outro lugar. E isso seria uma vergonha e um grande pecado, diante dos muitos anos de trabalho feito por desconhecidos que hoje estariam descansando com seus ancestrais, mas cujos espíritos trabalhadores ainda continuavam pairando sobre o quintal. O que devia ser construído ali, podia muito bem ser construído em outro lugar, disse ela, determinada.
Arn suspirou, dizendo que aquilo que estava pensando para ser construído ali não podia ser erguido em qualquer outro lugar. Ali não iriam ser construídas mais casas, mas, sim, um canal revestido de pedra.
A depressão onde o quintal estava situado era o local certo. E por muito que ele e os outros pensassem e pesquisassem o terreno em outros locais, não encontraram outro lugar para construir o canal.
Cecília gostaria muito de defender o seu quintal, mas ficou insegura. Não sabia ainda o significado desse canal e pediu, então, que Arn, com a maior paciência e com mais detalhes, explicasse para ela.
Ele ficou radiante, pegou-a novamente pela mão e foram, então, até a pequena queda-d'água onde funcionava um moinho dos monges de Lugnâs. Entraram no moinho e Arn mostrou para ela o que ja podia ser feito com a força da água. O que ali estava não era apenas um moinho para moer cereais, não apenas uma máquina para esmagar calcário e desfazê-lo em pó para argamassa, mas uma ferramenta para produzir e polir pedras de vários tipos, desde grandes pedras de arenito em cor amarelo-amarronzada até as pequenas e pretas que ela ainda não conhecia.
Tudo isso, dizia ele ao voltarem para o quintal, se tornaria um canal de fundo e paredes de pedra por onde a água correria sempre com força igual, tanto na primavera como no outono, tanto no verão como em grande parte do inverno. E essa força iria fazer funcionar os foles e os martelos de várias oficinas. Entre os seus homens trazidos da Terra Santa, havia todos os tipos de conhecimentos, continuou ele. Eles poderiam fazer milagres, se conseguissem mais força e ali estava ela, infelizmente, bem no meio do quintal e do pomar. Mas ali estaria também o futuro de Forsvik, ali existiam a riqueza e a expansão. Era ali que devia ser realizado o grande trabalho que levaria à manutenção da paz.
Cecília tentou conter-se para não ser levada pela radiante impe-tuosidade de Arn. Entendia que ele não era nada ruim como yconomus, que sabia muito bem a diferença entre o dever e o haver. Talvez fosse um pouco impetuoso demais ao falar sobre as suas novas idéias, mas, aos seus ouvidos, tudo soava como se houvesse um pouco de ordem e clareza. O mais estranho ainda era ele pensar que, em Forsvik, poderia construir e produzir mais para resguardar a paz. O que resguardava a paz ou conduziria à guerra não era decidido nas ferrarias ou com quedas-d'água, mas pelos sentimentos das pessoas.
Por isso, ela pediu a Arn para se sentar ao seu lado num velho banco de pedra ainda no quintal, para explicar tudo de novo, mais lentamente, uma coisa de cada vez. No entanto, ele continuou andando à volta dela, esgrimindo intensamente com os braços, enquanto contava de novo, embora da mesma maneira agitada como antes. Ele misturava coisas grandes com coisas pequenas, barricas de manteiga com barras de ferro da Svealand, forragem para cavalos com produção de pontas para flechas, vidro com farinha e lã, peles de Forsvik com peles que precisavam ser compradas, argila da olaria de tijolos com tecelagem, de tal maneira que, ao final, parecia tão delirante ao falar quanto ela ficou ao tentar escutar.
De novo, ela lhe pediu para se sentar ao seu lado e responder às suas perguntas, em vez de tentar dizer tudo ao mesmo tempo. E se ela não entendesse o que ele dizia, também não poderia ajudar em nada.
Essas palavras logo fizeram efeito nele, que, obedientemente, se sentou ao seu lado, fez um carinho na mão dela e abanou a cabeça, sorridente, como se pedisse desculpas.
— Muito bem, então, vamos começar pelo princípio — disse ela. — Primeiro, diga-me o que precisa ser trazido para Forsvik nos barcos de Eskil. Apenas isso. Apenas o que nós precisamos comprar!
— Varas de ferro, lã, sal, forragem para animais, uma parte daquela areia de que precisamos para fazer vidro, peles e vários tipos de pedras — mencionou ele, contido.
— E por tudo isso temos de pagar? — perguntou ela, com rigor.
— Sim, temos de pagar por tudo isso. Mas não significa sempre que temos de pagar com prata...
— Eu sei! — interrompeu ela. — Pagar a gente pode, de várias maneiras, mas essa é uma questão para resolver mais tarde. Em vez disso, diga-me o que é que vai sair de Forsvik.
— Tudo o que é feito de ferro e aço — respondeu ele. — Todas as armas que nós, com certeza, podemos fazer melhor do que os outros no reino, mas também carros para limpar a neve dos caminhos e rodas revestidas de aço. Farinha, a gente pode produzir, moendo toda hora, noite e dia, o ano inteiro. E os cereais podem chegar nos barcos de Eskil, tanto quanto a gente quiser. Não deve faltar. Tudo o que tem a ver com couro e produção de sela vamos produzir. Se resolvermos o problema da argila que, por enquanto, só encontramos longe, os fornos da olaria podem trabalhar permanentemente como o nosso moinho. Mas o vidro é aquilo que, de início, nos vai dar a melhor receita.
— Tudo isso não parece dar receita — observou Cecília, com uma ruga de embaraço na testa. — Parece dar prejuízo. Temos, na verdade, uma grande quantidade de gente para alimentar no burgo, muitas almas já se encontram aqui e muitas mais vão haver aqui no inverno, se é que entendi bem os seus planos. E existem tantos cavalos aqui quanto no castelo de Näs, que é do rei. E forragem para tantos cavalos, nós não temos nas nossas terras. Você tem certeza, meu querido, de que não está exagerando nas suas pretensões?
Primeiro, ele ficou totalmente quieto, paralisado pelas palavras que ouviu. Depois pegou na mão dela, recolheu-a entre as suas, levou-a à boca e beijou-a várias vezes. Ela sentiu o calor subir dentro de si, mas não ficou nada tranqüila quanto aos negócios.
— Numa coisa você não é nada igual àquela que deixei em frente do portão de Gudhem, meu amor — disse ele. — É muito mais sábia, agora, do que então. Você vê de imediato aquilo que ninguém, entre seus amigos, iria entender. Melhor esposa do que você, não existe no nosso reino.
— É isso que mais quero, ser uma boa esposa — respondeu ela. — Mas, então, preciso tentar controlar todos os seus planos ambiciosos, pois parece que você pretende construir mais do que está pensando agora.
— Isso é verdade — aquiesceu Arn, sem se mostrar nem um pouco preocupado. — Como deviam ser administradas as dívidas e as perdas, os lucros e os créditos, isso ia deixar para mais tarde, ainda que sabendo ser necessário fazer tal coisa.
— É uma leviandade pensar dessa maneira, que nos pode custar caro e que muitos de nós vão ter que pagar com os estômagos a roncar de fome durante o inverno — respondeu ela, tranqüila. — Não acha que está na hora de dar uma parada e pensar um pouco mais?
— Não, mas acho que devo deixar você se preocupar com esses pensamentos — respondeu ele, beijando a mão dela novamente. — Você sabe que de início os negócios podem dar prejuízo, certo?
— Sim, eu sei, isso aconteceu até comigo, embora não fosse uma coisa que eu desejasse ou entendesse nessa época. Mas aí é preciso ter uma boa arca cheia de prata e a certeza de que vai ficar melhor no futuro.
— Essas duas condições estão sendo cumpridas aqui em Forsvik. Mas diga-me que tipo de prejuízos você teve de sofrer, minha querida?
— Cecília Blanka, Ulvhilde e eu fomos as primeiras a garantir dinheiro para Gudhem, tendo que costurar mantos, os mantos que quase todos usam agora, aqui no reino. No início, vendíamos por um preço bem baixo, barato demais, de tal maneira que gastávamos tudo para comprar peles e fios de Lübeck que recebíamos quando se vendiam os mantos prontos — respondeu ela, excitada, por ter sido desviada da conversa muito mais difícil a respeito de Forsvik e de seus maus negócios.
— Mas depois vocês aumentaram os preços e logo todos queriam ter mantos iguais, bons e bonitos, e aí aumentaram ainda mais o preço! — sugeriu Arn, abrindo os braços e sorrindo como que dizendo que nada havia com que se preocupar, nem agora, nem mais tarde.
— É verdade, tivemos que corrigir os nossos rumos — respondeu Cecília, com aquela ruga novamente gingando na testa. — Você disse que tínhamos prata e que ia ficar melhor no futuro. Isso você vai ter que me explicar melhor.
— Com todo o prazer — respondeu Arn. — A prata, nós temos mais do que suficiente. O que podemos vender de imediato é vidro, mas a receita será menor do que aquela que vamos ter de pagar por todo o resto. Assim que começarmos a vender armas, passaremos a equilibrar as contas. Depois disso virão os resultados da olaria, da venda de madeiras preparadas e de algumas outras coisas que vão transformar os prejuízos em lucros. Basta começar.
— Armas? — perguntou Cecília, desconfiada. — Como é que vamos vender uma coisa que todos produzem em casa, nos seus próprios burgos?
— Porque vamos fazer armas muito melhores.
— E como é que o povo vai saber disso? Você não vai poder viajar por toda parte e realizar demonstrações com as suas armas, vai?
— Não, mas produzir todas as armas para Arnäs já vai tomar o seu tempo. Em Arnäs, deve haver armas e coletes de malha de aço para cem homens. E tudo isso deve ser pago por Eskil. Depois, teremos Bjälbo. E-a seguir, ainda, todos os burgos folkeanos, um depois do outro.
— Essa é uma nova maneira de fazer negócios — concordou Cecília, com um suspiro. — O mais importante, evidentemente, é ter ferro vindo da Svealand para Forsvik e armas prontas saindo das nossas ferrarias. O mais importante é que toda a lã que nós temos, retirada dos nossos animais, desapareceu para a sua... Qual é o nome mesmo?
— Felt.
— Isso mesmo. Felt. Mas a lã, a gente costuma utilizar para fazer roupas para todos, dos que estão em cima e dos que estão embaixo. Quer dizer que agora vamos ter de pagar por essa lã?
— É claro. Tanto para as roupas como para mais felt.
— E precisamos de mais peles do que aquelas que conseguimos em conseqüência dos animais que abatemos. E de mais carne, em especial, de carneiro, para conseguir passar o inverno. E de forragem para todos os animais, em especial para os cavalos, certo?
— Sim, é verdade, minha querida. Você vê tudo muito claramente.
— Mas, então, um de nós precisa tomar conta de tudo isso, de maneira que possamos fazer a coisa certa na hora certa. E não é nada simples uma responsabilidade dessas! — objetou ela, finalmente, depois de refletir, vendo que as dificuldades iam crescer e ficar do tamanho de uma montanha, num futuro muito próximo.
— Será que posso pedir a você, minha querida esposa, para fazer isso? — perguntou ele, tão entusiasmado que ela chegou a pensar que foi exagero.
— Sim, claro, você pode — respondeu ela. — Eu tenho o ábaco, mas essas contas não dá para reter tudo na cabeça. Vou precisar de tinteiro e pergaminho para conseguir trabalhar. E vou ter que falar com muita gente, de modo que vai levar algum tempo. Mas se não agirmos a tempo vamos acabar passando fome no inverno!
Arn prometeu que logo ela receberia tudo o que precisava para começar a fazer os livros de contas. Garantiu ainda que em Forsvik ninguém, jamais, iria passar fome. E depois disso, parecia que já tinha esquecido tudo, jogando-se de corpo e alma, novamente, ao trabalho.
As palavras do rei Knut para Arn, de que a igreja do castelo de Näs seria a mais próxima para os moradores de Forsvik, não eram totalmente verdadeiras. Havia igrejas mais próximas. Mas com ventos favoráveis no lago Vättern era possível ir mais rápido até Nas do que a qualquer outra igreja, pelo fato de o rei Knut continuar mantendo os seus remadores e velejadores noruegueses.
No final do verão, o rei mandou buscar Arn e Cecília, bem cedo, num barco chamado Ormen korte, o "cobra curta", ou seja, uma maneira norueguesa de fazer piada. Cecília ficou feliz ao ver de novo aquele barco negro e esguio chegando, e esperava que o timoneiro ainda fosse o mesmo que ela conhecera antes. E assim foi, como ela pôde logo verificar, mas seus cabelos longos tinham agora ficado brancos.
Para Arn, rever aquela embarcação não lhe trazia nenhuma alegria. Ele tinha estado justo na sua primeira viagem, que terminou no assassinato do rei anterior, mas sobre esse assunto ele não contou nada para Cecília, nem para ninguém, no momento em que abaixou a cabeça, fez o sinal-da-cruz e entrou a bordo. Os remadores noruegueses sorriram, subentendendo que tinham recebido a bordo mais um gote ocidental que nunca tinha velejado. Ainda se contava entre eles a história divertida de uma senhora especial que perguntou ao próprio timoneiro, Styrbjõrn, se não receava perder o rumo no pequeno lago Vättern.
Precisaram apenas remar cerca de uma hora para pegar vento nas velas e seguir a toda a velocidade, deixando para trás um rastro de espuma branca.
Depois da missa e da terceira purificação da noiva na igreja, os amigos se separaram. As duas Cecílias foram para um lado, enquanto o rei Knut pegava Arn pelo braço, tomando o caminho do baluarte entre as duas torres do castelo, para onde ele ordenou que trouxessem bancos e mesa, além de comida e bebida que ele, até o momento, ainda não tinha conseguido convencer Arn a ingerir durante todo aquele santo dia.
Havia muito do que falar, de modo que um dia só não chegaria, explicou o rei, melancolicamente, passando a mão pela cabeça agora quase totalmente calva. Mas era melhor começar com os assuntos mais simples, deixando os mais difíceis na mesa para o final.
O mais simples era, sem dúvida, tratar logo do casamento entre Magnus Mâneskõld e a filha sverkeriana Ingrid Ylva. Knut disse entender muito bem a hesitação de Arn em se encontrar com o pai da noiva, Sune Sik, já que Arn era o padrinho do noivo e devia negociar o casamento com um homem que era o irmão de quem ele tinha ajudado a matar. No entanto, Birger Brosa já tinha resolvido essa questão com a mesma facilidade com que conseguia partir uma noz com as mãos.
Magnus Mâneskõld tinha vivido e crescido como filho de criação de Birger Brosa e, atualmente, era considerado mais como irmão mais novo do que como filho. Se Birger Brosa fosse, então, o padrinho, em vez de Arn, estavam contornadas todas as dificuldades da melhor maneira, não havendo razões para ninguém se sentir desonrado. Além disso, Sune, o irmão do rei morto, teria a honra de conhecer pessoalmente o conde-ministro do reino como representante do seu futuro genro.
Arn não tinha nada a dizer a respeito dessa proposta. Acenou com a cabeça concordando e murmurou qualquer coisa de que não era preciso dedicar mais tempo a esse problema, desde que havia outros assuntos mais difíceis a tratar.
E a questão seguinte, certamente, era muito mais delicada, pois misturava orgulho com inteligência e, por isso, não podia ser solucionada apenas com inteligência. Todavia, era preciso que Arn se recompusesse o mais rápido possível com o seu tio, Birger Brosa. Knut tinha tentado trazer o assunto para uma conversa com o conde, mas este reagira como um gato eriçado. Birger Brosa considerava-se traído, tanto por Knut quanto por Arn, quando se tratou de arranjar rapidamente o casamento em Arnäs. E muito mais traído ele se sentiu ao ver que o rei e a rainha foram ao casamento em Arnäs para demonstrar sua satisfação diante do acontecido.
Refletindo, Arn propôs a ida dele e de Cecília até Bjälbo, sem serem esperados. Os dois, mais cedo ou mais tarde, teriam de ir visitar Ulvhilde Emundsdotter em Ulfshem, visto que ele havia prometido isso a Cecília. E como Bjälbo estava situada no caminho entre Forsvik e Ulfshem, não seria de estranhar se ele e Cecília, atrasados pelo mau tempo ou por qualquer outro motivo, aparecessem como visitantes inesperados em Bjàlbo. Seria muito difícil para Birger Brosa fechar as portas aos seus parentes.
Knut discordou dessa proposta. E explicou que visitantes inesperados eram uma coisa de que Birger Brosa não gostava. Isso era sabido por todo mundo. Talvez porque através dos anos ele tivesse recebido muitos visitantes desse tipo.
Talvez a sua hospitalidade fosse pouca, talvez desse ordens ao pessoal da casa para acomodar os hóspedes, oferecendo cama e comida simples para Arn e Cecília, na pior das hipóteses em algum quarto ou casa para visitantes estranhos. E se dessa maneira Arn e Birger Brosa voltassem a se enfrentar pela segunda vez, a situação ficaria ainda pior.
Eles consideraram a questão em silêncio durante algum tempo, até que Arn disse que na festa de noivado a realizar ou em Bjälbo ou em casa de Sune Sik, a mãe e o pai do noivo teriam de ser convidados para o lugar de honra, o mesmo acontecendo na festa de casamento. E no lugar de honra, sem dúvida, o conde iria se sentar. Se não houvesse conciliação durante toda uma noite de festa, no noivado ou no casamento, então não haveria conciliação possível, nunca.
Knut concordou, acrescentando que seria mais sensato determinar essa festa de noivado para pouco antes do período proibido para casamentos, perto do Natal, mais ou menos entre o Dia de Todos os Santos e a Feira de Anders, em fins de novembro. Talvez, então, Birger Brosa já tivesse esfriado a cabeça com as primeiras tempestades de neve. De qualquer forma, era melhor agir sem pressa.
Convencido de que todas as questões já estavam resolvidas, Arn perguntou, excitado, como era dirigir o reino nesses novos tempos. Pelo que ele havia entendido, muita coisa tinha mudado desde que ainda eram crianças, numa época em que o povo se juntava em assembléia dos gõtes, com o rei, o conde-ministro e o homem das leis, umas duas mil pessoas, por aí. Nem uma palavra ele tinha ouvido falar a respeito dessa tal assembléia, desde que havia voltado para casa, e isso significava, certamente, que o poder tinha mudado da assembléia para qualquer outro lugar, certo?
O rei Knut suspirou, dizendo que isso era uma verdade. Em parte, tinha ficado melhor com a nova maneira de dirigir o reino, como se tinha pensado que ia acontecer. Por outro lado, em alguns aspectos, a situação piorara.
Na assembléia, os camponeses livres decidiam agora como antes sobre tudo o que havia para decidir entre camponeses livres. Resolviam as suas discrepâncias, decidiam sobre a pena de morte, enforcavam ladrões e consideravam outros casos menores.
Na corte do rei, em contrapartida, decidia-se sobre tudo o que dizia respeito aos grandes problemas do reino: quem devia ser o rei ou conde-ministro ou o bispo, sobre impostos para o rei e o conde, sobre a construção de mosteiros e sobre comércio com o exterior e a defesa do reino. Quando finlandeses e russos entraram pelo lago Málaren, cinco anos antes, saqueando e incendiando a cidade de Sigtuna, além de matarem o arcebispo Jon, houve muita coisa para ser decidida na corte que jamais poderia ser discutida em assembléia com mil homens argumentando entre si. Uma nova cidade tinha de ser construída para bloquear a entrada do lago Mãlaren, perto de Agnefit, onde o Málaren se encontra com o mar Báltico. Para começar, foi lá que se começou a construir um forte, colocando-se estacas e correntes para que nenhum saqueador pudesse voltar a entrar, vindo de leste, pelo menos sem ser notado como da primeira vez. Isso foi decidido em conselho, na corte do rei. Esse era o novo método de gerir o reino.
Arn, que bem sabia onde Agnefit estava situada, visto que uma vez tinha passado a cavalo por esse caminho e por Stocksund ao voltar de Aros Oriental, dirigindo-se para Bjälbo, se entusiasmou de imediato com a proposta de que o rei estaria melhor se tivesse o seu trono e residência nesse lugar do que em Näs, no meio do lago Vättern.
Por mais impaciente que Knut tivesse ficado, vendo que a conversa ia fugir para uma direção e para questões totalmente diferentes do que ele havia pensado, não pôde deixar de pedir a Arn para falar mais sobre essa idéia inesperada. Que havia de errado com Näs?
A situação, respondeu Arn, com uma gargalhada. Näs foi construído por Karl Sverkersson por uma razão, a de que o rei teria um castelo com tal segurança que ninguém com a idéia de assassiná-lo chegaria até ele. Até que ponto esse raciocínio era pueril, sabiam-no bem Arn e Knut, melhor do que quaisquer outros, visto que foi justamente em Näs que eles mataram o rei Karl, a menos de um tiro de flecha do lugar onde agora estavam, muitos anos passados.
E o rei, de preferência, continuou Arn, deve estar onde passam as correntes de ouro e de prata do reino. Tal como o comércio parecia correr atualmente e pelo que parecia vir a correr no futuro previsível, esse lugar no reino era a oriente, muito mais do que a ocidente, visto que a ocidente estava a Dinamarca.
De Linkõping, na Götaland Oriental, podia-se dirigir os negócios do reino e, em especial, o comércio com Lübeck, melhor do que do remoto castelo de Näs. Mas Linkõping, desde há muito tempo, era a cidade dos sverkerianos e, portanto, para um rei da família erikiana seria morar num ninho de vespas. Mas uma nova cidade, nas margens do mar Báltico, uma cidade de ninguém, a não ser daquele que a mandasse construir, era lá que o rei devia ficar.
Knut objetou, dizendo que Näs era mais segura. Ali não só a defesa era mais fácil como também a fuga. E durante a maior parte do ano li nenhum inimigo podia chegar até lá, devido ao frio e ao gelo. Caso se construísse uma nova cidade, esta ficaria exposta a assalto, seguido de incêndio. Arn respondeu de imediato que o lugar perto de Agnefit e Stocksund estava situado de tal maneira que a sua construção podia torná-lo impenetrável. Além disso, havia apenas um inimigo, a Dinamarca e se os dinamarqueses quisessem fazer a guerra contra a
Götaland Ocidental, bastaria apenas avançar por terra, a partir da província de Escânia. E velejar, passando pelos dinamarqueses, de
Lõdõse para Lübeck, ao sul, só seria possível até o momento em que os dinamarqueses não fossem contra. A Dinamarca era uma grande potência. Mas os dinamarqueses não podiam alcançar a costa oriental com tanta facilidade. E de Agnefit ficava mais perto chegar a Lübeck do que de Näs. E isso era verdade para qualquer época, visto ser possível velejar a maior parte do caminho ou todo o caminho, se os ventos ajudassem. O mesmo aconteceria se o poder mudasse de Näs para a costa leste.
Eles ficaram virando e revirando a idéia da nova cidade no Báltico, mas logo Knut quis voltar às outras questões de que ele próprio pensava falar. A pior delas era a questão do intratável arcebispo Petter, ou Petrus, como ele gostava de ser chamado. Ter um arcebispo como inimigo era a pior coisa que podia acontecer a um rei. A mesma coisa acontecia na Noruega, onde o rei Sverre, por muito que se esforçasse, não conseguia evitar ter arcebispos como inimigos. Quando um tal de Dystein morreu, alguns anos atrás, nada deu certo, por muito que Sverre se articulasse na hora de ser nomeado um novo arcebispo. ig Acabou sendo indicado mais um inimigo, com o nome de Eirik Stavanger. Agora, Sverre resolveu empurrar esse Eirik para o exílio na Dinamarca e com isso se arriscando a ser excomungado. O Santo Padre em Roma escreveu e deu ordens para que Knut e o rei da Dinamarca, juntos, invadissem a Noruega. Evidentemente que não era isso que ia acontecer, pelo menos, pelo lado de Knut, visto que a sua irmã, Margareta, estava casada com o rei Sverre e era a rainha da Noruega. Mas os problemas de Sverre demonstravam que ter um arcebispo contrário era o mesmo que ter uma fístula no traseiro.
O mesmo estava acontecendo agora no reino dos sveas e dos gotas. O arcebispo Petter era sverkeriano, o que ele não fazia o mínimo para disfarçar. E, no momento, aquilo que era sua intenção já estava claro para todos. Ele queria tirar a coroa do seu próprio rei e entregá-la a Sverker Karlsson que vivera toda a sua vida na Dinamarca.
Am objetou, dizendo que, embora a Santa Igreja Católica Romana tivesse um grande poder, ele nunca tinha ouvido falar de poder para nomear reis. Para isso, havia apenas um poder no mundo.
É claro que a Igreja não tinha esse poder, mas conseguia criar problemas. O conselho é que nomeava os bispos no reino. Qualquer bispo recebia o cajado e o anel do rei. Portanto, ninguém podia tornar-se bispo contra a vontade do rei. Infelizmente, não acontecia a mesma coisa ao se tratar de arcebispo, pois este o rei não podia negar nem nomear. Na realidade, era Roma que decidia. Mas Roma deixou essa incumbência para o arcebispo Absalon, em Lund, o que era o mesmo que dizer Dinamarca.
Os dinamarqueses, portanto, é que decidiam quem devia ser o arcebispo nas terras dos sveas e dos gotas. Por muito que fosse o contrário do que devia ser, nada podia se fazer a respeito do assunto. E mesmo que Knut tivesse realizado todo o possível para livrar o bispado de sverkerianos, esses mudavam de orientação ao receber o anel e o cajado. Aí, passavam a obedecer ao arcebispo, independentemente das promessas sigilosas que tivessem feito para o rei, antes de assegurarem o poder. Jamais se podia confiar em qualquer clérigo.
E esse manhoso do Petter não parava de queixar-se de que Knut ainda não tinha reparado o suficiente o mal de ter assassinado o rei Karl, e enquanto não fizesse isso, a sua coroa teria sido obtida irregularmente, ainda que tivesse sido coroado e recebido os óleos. E uma coroa irregularmente obtida não poderia ser herdada pelo filho mais velho, declarou Petter.
Havia também muitas discussões a respeito da rainha Cecília Blanka ter feito os seus votos no convento e nesse caso os filhos Erik, Jon, Joar e Knut seriam todos ilegítimos. E um filho ilegítimo não poderia herdar a coroa, segundo Petter.
E entre essas suas linhas de pensamento, o arcebispo Petter caminhava, ora para um lado, ora para outro. Se Knut apenas ficava na promessa de uma cruzada para expiação e jamais construía tantos mosteiros, logo Petter começava a encrencar falando dos votos de Cecília Blanka no convento. E ao citar tantos testemunhos comprovando que toda a conversa sobre os votos de Blanka era mentira, ele voltava para o assunto do assassinato do rei Kari. Não havia maneira de se livrar desse freio nos dentes.
Arn objetou, dizendo que a Igreja não podia fazer nada contra a eleição de um rei. Se o conselho decidisse eleger Erik, o conde herdeiro, para rei depois de Knut, os bispos poderiam discordar quanto quisessem, levantar os olhos para o céu e falar de pecado. E poderiam, evidentemente, recusar-se a coroar Erik. Mas rei por coroar já o reino tinha tido antes.
Mas... e se os bispos viajassem para a Dinamarca e coroassem esse tal de Sverker, objetava Knut, quase em desespero.
Nessa altura, nenhum homem entre os sveas e os gotas iria levar a sério esse caso. E um tal rei ao serviço de estrangeiros jamais iria conseguir botar o seu pé no reino, ajuntou Arn, tranqüilamente.
— Mas se esse rei entrar à cabeça de um exército dinamarquês? — inquiriu Knut novamente, agora com uma expressão de angústia nos olhos.
— Então, vence aquele que ganhar a guerra. Não há nada de novo nisso — respondeu Arn. — Seria a mesma coisa se os dinamarqueses quisessem fazer de nós dinamarqueses já a partir de hoje. Isso independe de quem escolhermos para rei.
— Você acha que os dinamarqueses podem fazer isso? Você acha que eles podem nos vencer? — perguntou Knut, quase com lágrimas nos olhos.
— Sem dúvida — respondeu Arn. — Se nós fôssemos tão idiotas a ponto de nos defrontarmos com um exército de dinamarqueses em campo aberto, então eles venceriam fácil. Se eu fosse o seu marechal, aconselharia a não enfrentá-los em campo aberto.
— Mas então estaríamos perdidos e, além disso, desonrados, por não termos combatido por nossa honra e nossa liberdade.
— Não — reagiu Arn. — De jeito nenhum. É muito longe de Själland até Näs. E ainda mais longe até Aros Oriental, dos sveas. Se o exército dinamarquês entrasse no reino, eles iriam querer uma vitória rápida, evidentemente, enquanto a época do ano lhes fosse propícia e o seu abastecimento fosse bom. Mas pense bem. E se não lhes dermos essa possibilidade? Eles esperam, exatamente como você mesmo, que a gente convoque todos os homens para botarem os seus elmos e avançarem contra o inimigo, a passos largos, de machado na mão, para ser abatido pelos cavaleiros dinamarqueses, para morrer com coragem e com honra, mas morrer mesmo assim. Pense! E se não fizermos isso?
— Então, perdemos a nossa honra. Ninguém segue um rei sem honra! — respondeu Knut, de repente, com a voz inflamada pela raiva e batendo com o punho fechado na mesa entre os dois.
— Um rei morto, ninguém segue — reagiu Arn, friamente. — Se os dinamarqueses não tiverem pela frente a grande batalha que esperam, eles não vencem. Incendeiam uma cidade. Saqueiam aldeias e camponeses. Isso vai nos custar muito sofrimento. Mas aí chega o inverno. Seus meios de abastecimento começam a escassear. É então que a gente os ataca, um a um. E cortamos seus suprimentos vindos da Dinamarca. Quando a primavera chegar, você será o grande vencedor. Você jamais poderá ganhar com honra maior do que essa.
— Na verdade, você não pensa em guerra como todos os outros — constatou o rei Knut.
— Aí é que você está errado, totalmente errado — respondeu
Arn, com um sorriso nos lábios, quase perverso. — Penso igual a mil homens, dos quais conheço muitos. Na Terra Santa, não éramos mais do que mil homens contra um poderio infinitamente maior do que o poderio dinamarquês. E os templários combateram com muito sucesso durante mais de cinqüenta anos.
— Até que perderam! — objetou o rei Knut.
— É verdade — respondeu Arn. — Nós perdemos quando um louco transformado em rei decidiu que todo o nosso exército devia ser colocado em jogo contra um inimigo muito superior e numa única batalha. Foi então que perdemos. Se tivéssemos continuado como estávamos habituados a fazer, ainda hoje teríamos a Terra Santa em nossas mãos.
— Como se chamava esse rei?
— Guv de Lusignan. E seu conselheiro chamava-se Gérard de Ridefort. E que seus nomes vivam em eterna desonra!
Para os irmãos Jacob e Marcus Wachtian, a viagem para Skara foi uma das mais estranhas de suas vidas e, no entanto, eram dois homens bem experientes.
Arn, primeiro, disse que os dois irmãos deviam viajar apenas na companhia de alguns escravos como guias, mas eles rejeitaram essa proposta, com medo e indignação. Teriam grandes dificuldades em fazer compras numa língua que eles não entendiam, embora fossem as noites escuras ao longo das praias fluviais desertas que receassem. Essas terras nórdicas eram terras do demônio, a esse respeito eles não tinham dúvida nenhuma. E as gentes que eles viam, muitas vezes, não se diferenciavam dos animais, o que também era horrível.
Arn, de início, não queria deixar as suas construções, mas desistiu diante das objeções deles e decidiu que tanto ele quanto a sua esposa iriam viajar, já que ela também tinha compras a fazer. Paralisados, os dois irmãos chamaram a atenção para o fato de lhes parecer insensato viajar com todo o ouro e a prata necessários para a longa lista de compras se não se levassem cavaleiros armados com eles. Mas contra essa objeção Arn apenas soltou uma gargalhada, fez uma vênia exagerada e cavalheiresca, assegurando que havia um templário certamente de serviço. E ele viajou de armadura de guerra, levando consigo arco e flechas, além da espada e do machadinho de luta que ele sempre portava.
Ao colocarem a bordo a carreta com dois bois e mais os seus cavalos e a comida para viagem, lembrou-se Arn de que alguém tinha de guiar a carreta quando viajassem por terra e chamou dois garotos que, excitados pela idéia de viajar e com seus arcos e flechas na mão, vieram correndo e embarcaram pouco antes de o barco largar.
Tinham contratado uma barcaça fluvial vazia com oito remadores malcheirosos e matreiros para a viagem, e os irmãos Wachtian achavam que era o mesmo que colocar a vida em jogo sair por essas paragens vazias e assustadoras com ouro e prata diante do nariz de tais homens. Mas logo mudaram de opinião, assim que viram com que olhares submissos, quase assustados, esses rufiões observavam Arn.
O plano de viagem indicava a passagem por Askeberga, o mesmo caminho por onde vieram, e em seguida a entrada num lago chamado Õstansjö, mas a partir daí não continuariam para nordeste na direção de Arnäs, mas sim para o sul, durante muitas horas, por outro rio, antes de chegar àquele lugar onde deviam desembarcar para continuar a viagem por terra.
Do lugar onde atracaram no rio, o caminho para a cidade mais próxima era feito por uma floresta bem cerrada e como era o único caminho para aqueles que queriam ir ao mercado na cidade, não era difícil admitir os perigos que os esperavam lá dentro na floresta.
As piores suspeitas dos dois irmãos se confirmaram, quando passavam no meio da floresta, e Arn, que ia na frente, no seu cavalo, de repente, levantou a mão direita fazendo sinal para pararem e colocou o seu elmo na cabeça. Ele observou com toda a atenção o caminho na sua frente e olhou para cima, para a coroa cerrada das árvores, antes de gritar qualquer coisa na sua própria língua e logo a floresta passou a viver. Os salteadores desceram das árvores e se mostraram entre arbustos e folhagens. Mas em vez de se lançarem ao ataque que lhes daria uma fortuna se conseguissem vencer, os salteadores, de cabeças pendentes e armas caídas, deixaram que o pequeno cortejo passasse, sem disparar uma única flecha. Salteadores piores do que esses nunca ninguém tinha visto.
Marcus brincou alegremente, depois de terem saído da floresta e quando já se via ao longe uma pequena cidade com a sua igreja, que salteadores assim não teriam vida longa, ou, de qualquer maneira, não ficariam gordos, se assaltassem no Ultramar.
Jacob, que duvidava de que essa fosse uma maneira típica de agir para salteadores nórdicos, aproximou o cavalo ao lado de Arn e perguntou o que tinha acontecido. Ao recuar para ficar ao lado do seu irmão, mal podia conter o riso, contando o que acontecera.
Os salteadores não eram apenas salteadores, eram também quem recolhia os impostos para o bispo da cidade e parecia que eles se comportavam consoante quem chegava cavalgando. De alguns, apenas reuniam os impostos para o seu bispo. De outros, saqueavam tudo por conta própria, já que nenhuma outra compensação recebiam pelo trabalho de recolher os impostos.
Dessa vez, porém, não houve nem recolhimento de impostos nem pilhagem. Isso porque, quando Arn descobriu os salteadores emboscados, foi logo dizendo para eles qual era a situação. Primeiro, que ele era Arn Magnusson e os mataria a todos se lhe dessem uma razão para isso. Segundo, que era da família folkeana. Isso significava que nenhum assaltante, a serviço do bispo ou em seu próprio benefício, iria sobreviver a três pores-de-sol, após ter disparado uma única flecha, caso conseguisse sobreviver ao próprio Arn. Os salteadores acharam de imediato que essas palavras eram profundamente persuasivas.
Aquele clã a que Arn pertencia devia ser, portanto, mais ou menos, como uma tribo de beduínos, refletiu Jacob. Nesse país de bárbaros havia, portanto, o poder real e a Igreja como todos os outros. Havia forças armadas seculares e religiosas. Isso eles tinham visto com os próprios olhos na festa de casamento. Quer dizer, a ordem era mantida, mais ou menos, do mesmo jeito como em outros países cristãos.
Mas em que país alguém poderia avançar contra salteadores ou coletores de impostos e dizer que pertencia a uma determinada tribo e com isso fazer com que todos depusessem suas armas? Só no Ultramar. Aquele que atacasse qualquer membro de determinada tribo de beduínos podia estar certo de que seria caçado por vingadores até o fim dos tempos, se isso fosse necessário. Pelo visto, o mesmo acontecia ali na Escandinávia.
Marcus brincou, dizendo que era uma bênção de Deus ter esses tais beduínos do seu lado, que, de resto, pensando em Ultramar, podiam ser considerados também como assassinos. E quem gostaria de ter o velho da montanha e os assassinos como inimigos? Estaria decerto condenado à morte. Até que ponto esses folkeanos poderiam ser considerados como beduínos ou assassinos devia ser tão difícil decidir, provavelmente, quanto diferenciar entre coletores de impostos e salteadores. Aliás, tanto fazia. O importante era ter a companhia certa.
Pela primeira poça de lama fedorenta da cidade, que aparentemente tinha um bispo ganancioso, eles passaram sem parar até mesmo para comer. Jacob e Marcus ficaram, ao mesmo tempo, satisfeitos e desapontados, visto que, por falta de hábito, doíam muito as suas nádegas depois de tantas horas cavalgando. Mas o mau cheiro da cidade, por outro lado, era extremamente repugnante.
A compensação por tudo o que eles agüentaram acabou chegando. Muitas horas depois, quando a primeira frialdade da noite chegou envolvente sob a forma de névoa, eles se aproximaram de um mosteiro onde deviam passar a noite.
Para os irmãos Wachtian era como se, de repente, tivessem voltado para casa. Ficaram alojados em celas individuais, com paredes brancas e um crucifixo, no hospício do mosteiro, e os monges que os receberam falavam todos a língua dos francos e agiam como pessoas de verdade, e a comida servida, depois dos cânticos do fim da tarde, era de primeira classe, assim como o vinho. Era como se tivessem chegado a um oásis, com tâmaras maduras e água limpa e fresca no meio de um deserto escaldante, tão surpreendente quanto abençoado.
Eles próprios não puderam passar dos muros internos do mosteiro, mas viram Arn vestir o seu manto branco de templário e entrar para rezar. Por aquilo que a sua esposa explicou para eles, na sua linguagem divertida e pura do latim da Igreja, ele teria ido visitar a sepultura da sua mãe.
No dia seguinte, deixaram muita roupa e comida de viagem no hospício, visto terem de voltar para mais uma dormida depois das compras na cidade que se chamava Skara.
Receberam, também, a informação de que Skara era a maior e mais antiga das cidades na Götaland Ocidental e a esse respeito exageraram nas expectativas. Nem sequer chegava a ser Damasco a cidade em que estavam entrando naquela manhã. Havia o mesmo mau cheiro de lixo e sujeira como do lado de fora da cidade menor cujo nome impossível já tinham esquecido, as mesmas gentes sujas e ruas sem calçada ou bueiros. E a igreja, pequena e primitiva, com duas torres, a que chamavam de catedral, era escura e assustadora, mais do que atraente e estimulante, de boas bênçãos e bons pensamentos. Mas não podiam resistir, como bons cristãos que eram, quando Arn e os outros na sua companhia, sua esposa e os dois garotos, entraram para fazer suas preces. Como Jacob e Marcus sentiam, essa não era uma igreja onde encontrar Deus, ou porque Ele nunca chegou a vir ou porque esqueceu o lugar. Lá dentro o ambiente era úmido e cheirava a paganismo.
Mas também esse pequeno buraco malcheiroso escondia uma bênção do mesmo tipo que o mosteiro encontrado no deserto.
Uma segunda vez os dois irmãos foram surpreendidos por uma coisa inesperadamente boa.
Primeiro, eles seguiram sem muita vontade Arn e sua esposa, visto que ambos funcionavam como abre-alas no meio da multidão. Todos abriam caminho para ambos. Jacob achou que era o manto azul, aquele que mostrava a que tribo beduína Arn pertencia. Marcus que muitas vezes era mais esperto, chamou a atenção para outra situação que era especialmente notável. Quase ninguém na cidade portava espada e os poucos que a tinham usavam todos mantos, mais ou menos, como o de Arn, mas nem sempre azuis. Eles encontraram um ou outro, entre os homens, de mantos vermelhos, que também usavam espada. E todos os que usavam espada se cumprimentavam cordialmente quando de mantos da mesma cor, mas friamente, ainda que respeitosamente, quando de mantos de cores diferentes. Havia, portanto, mais de uma tribo de beduínos, para começar. E, segundo, o mais estranho de tudo na ordem em vigor nesta terra, apenas os beduínos, que eram os mais perigosos dos homens, podiam usar as espadas. Imagine-se se alguém tivesse a infeliz idéia de tentar tirar a arma de um desses homens.
Eles não chegaram a nenhuma resposta clara para as suas perguntas sobre espadas e mantos, já que tiveram logo que pensar em outras coisas. A um dos cantos da cidade, existia uma rua que estava limpa e arrumada como em qualquer cidade dos francos ou no Ultramar. Ali o cheiro era outro, tanto pela limpeza como pelo café e comida e condimentos que pareciam conhecidos, e ali se falava a língua dos francos e algumas outras línguas que, no entanto, não eram nórdicas.
Tinham chegado à rua dos mestres vidraceiros, dos produtores de utensílios em cobre e dos pedreiros, cortadores de pedras. Produtos de vidro, de pedra e cobre estavam espalhados e expostos ao longo da rua. E logo vieram tradutores, correndo de todos os lados, para oferecer os seus serviços quando viram as bolsas gordas de dinheiro no cinturão de Arn, mas logo tiveram a experiência que as suas línguas dessa vez eram completamente desnecessárias.
Eles visitaram uma loja atrás da outra, se sentaram e aceitaram água fresca em bonitos copos de vidro, mas recusaram com elegância, porém decisivamente, os canecos de cerveja que também tentaram lhes empurrar. Era como se fosse uma pequena Damasco. Ali todos podiam conversar com todos em línguas compreensíveis e também a respeito de assuntos que certamente não eram do conhecimento de quem estava fora dessa pequena rua.
Ficaram sabendo que os produtos em vidro com lascas de cobre podiam ser encomendados da Dinamarca e de Lübeck, caso se quisesse o produto em cores dourada ou azul, enquanto que para as cores verde ou rosa ou sem cor já existiam os materiais necessários. Bastava mandar procurar nos lugares certos para encontrar. Arn logo mandou os dois garotos trazerem o carro de bois que tinham deixado com um guardador diante do portão da igreja e depois se entregou rápido às suas compras. O carro ficou pesado, com os materiais para a produção de vidro. Parecia que de certas lojas ele comprava tudo o que houvesse em depósito. Havia também chumbo em grande quantidade, visto que os mestres do vidro trabalhavam em grande parte, fazendo janelas para igrejas. Registraram-se muitos negócios bons naquele dia. Arn gastou muito dinheiro, mas parecia não se preocupar muito com isso, nem em barganhar muito com os preços, o que parecia preocupar a sua esposa, quase tanto quanto os irmãos Wachtian. Foram negócios inesperados para esses mestres francos em vidro, habituados como estavam a conversar através de intérpretes e a vender vidros prontos. Mas raramente, como no caso, conversavam na sua língua com um nórdico que a dominava tão bem quanto eles. E muito menos ainda tinham vendido ferramentas e material para fazer massa de vidro em vez dos vidros que eles próprios produziam. No entanto, alguns produtos prontos Arn comprou para levar consigo como modelos do trabalho a fazer, segundo explicou.
O mesmo aconteceu com os produtores de utensílios em cobre, pelos exemplares de cobre batido e endurecido, expostos do lado de fora das lojas, os irmãos Wachtian e Arn puderam julgar que melhor do que isso seria possível levar os seus trabalhadores de cobre damascenos a fazer em Forsvik. Arn comprou um ou outro utensílio em cobre, mas apenas para ser delicado. Ele comprou mais varas de cobre e tacos de estanho.
Quando a sua carroça já estava bem carregada e eles já tinham visitado todos os produtores de vidros e de utensílios de cobre, ao longo de um dos lados da rua, voltaram lentamente pelo outro lado para visitar os mestres pedreiros, ou seus trabalhadores e aprendizes que estavam nas lojas. Muitos dos próprios mestres estavam na construção de uma igreja que eles continuamente precisavam visitar. Jacob e Marcus souberam, para seu espanto, que os negócios com a construção de igrejas estavam florescendo mais neste pequeno reino do que em qualquer outro lugar no mundo. Ali, estavam em construção mais de cem igrejas ao mesmo tempo e com tantas encomendas de igrejas a construir por toda parte, os mestres pedreiros recebiam em pagamento o dobro do que se recebia no reino dos francos ou na Inglaterra ou em Sachsen.
Um dos mestres pedreiros cobrava mais caro do que todos os outros e do lado de fora da sua loja havia uma série de imagens apresentando as encomendas que lhe foram feitas, inclusive da construção da própria catedral. Eles foram vendo imagem por imagem, adivinhando o que se via, o que muitas vezes era bem fácil para quem conhecia as Sagradas Escrituras. Em especial, a esposa de Arn parecia gostar muito da arte desse mestre. Arn resolveu, então, entrar na loja com todos os seus acompanhantes para se encontrar com o mestre que, de início, se mostrou mal-encarado e pouco simpático, reclamando que não tinha tempo nem meios para conversas. Mas logo que descobriu que podia falar na sua própria língua com esse novo cliente, mudou rápido e começou excitado, quase confuso, a contar para todos como ele pensava no seu trabalho e do que ele gostaria de fazer. Arn mencionou que tinha vontade de reconstruir a igreja que pertencia à sua própria família, que seria não só uma reconstrução desde os fundamentos, mas também um monumento dedicado a uma nova santidade. Essa igreja seria dedicada, não à Virgem Maria, como quase todas as igrejas da Götaland Ocidental, mas ao Santo Sepulcro.
O mestre pedreiro ficou extremamente interessado ao ouvir essa novidade. Tal como disse, durante muitos anos só tinha esculpido a Virgem Maria em todas as situações imagináveis, suave e boa, severa e fazendo justiça, com o Seu Filho morto, com o Seu Filho recém-nascido, anunciado pelo Espírito Santo, a caminho de Belém, diante das estrelas, junto da manjedoura, e do mais que se possa imaginar.
Mas o Santo Sepulcro? Então, seria preciso pensar tudo de novo. Isso exigia um homem como ele. Exigia também tempo para refletir. Mas a respeito de tempo isso é que era o pior. O mestre pedreiro, que se chamava Marcellus, tinha assumido compromissos que chegavam a um ano e meio de trabalho. Antes disso, seria impossível para ele se liberar, a não ser que rompesse algum trato.
Arn não achava que a questão de tempo fosse problema, o importante era que o trabalho ficasse bonito para toda a eternidade, já que aquilo que era feito de pedra acabava ficando para sempre. Portanto, ele queria fazer negócio.
Marcus e Jacob começaram a se sentir incomodados ao ouvir como Arn estava sendo levianamente convencido a pagar por antecipação e ainda por cima escandalosamente caro. No entanto, não tinham qualquer possibilidade de interferir. As negociações terminaram com Arn pagando a inacreditável soma de dez besantes em ouro por um ano de trabalho por antecipação e prometendo pagar mais dez besantes por cada ano de trabalho a mais que a obra exigisse. O mestre pedreiro Marcellus não teve nenhuma dúvida em aceitar a proposta.
Na viagem de volta para o mosteiro de Varnhem nesse fim de tarde, parecia que a esposa de Arn o repreendeu, embora suavemente, pela maneira irresponsável como tratava a prata e o ouro. Ele não se deixou perturbar e respondeu a ela, com uma expressão de felicidade e amplos gestos, o que, mesmo para quem não entendesse a língua nórdica, devia ser entendido como a descrição de grandes planos.
Ao final, começou a cantar e, então, era como se ela também não pudesse deixar de cantar com ele. Era uma canção muito bonita e como os dois irmãos puderam entender era religiosa e não secular.
Foi dessa forma que se aproximaram de Varnhem, muito antes do sol se pôr e do frio da noite descer, tendo dois cantores celestiais como guias. Os dois irmãos chegaram à conclusão de que essa viagem, sem dúvida, não tinha decorrido apenas com surpresas, mas também fora muito melhor do que qualquer um deles poderia esperar.
No dia seguinte, partiram atrasados por motivo de a esposa de Arn ter feito compras de pergaminho e de rosas que ela recebeu em sacolas de couro com terra molhada, cortadas bem rente, de modo que só os talos maiores saíssem do saco. Que essa mulher era melhor do que o marido para fazer negócios, nem era preciso entender a língua para reconhecer. No entanto, em compensação, houve que esperar até que ela e o mestre jardineiro do mosteiro aprontassem a negociação da compra e venda por cada planta. Arn não deu o mínimo sinal de querer interferir. Por fim, sua esposa recebeu as plantas na carroça como desejava, e a julgar pelas rosas vermelhas e brancas que subiam pelos muros de Varnhem, ela tinha comprado muita beleza para Forsvik.
Entre os longos dias de verão, em que o resto da colheita se fez, e o seu término, o sol voltou a Götaland Ocidental pelo curto período de uma semana, com teimosos ventos sulistas.
Nesse tempo, Cecília ficou tão ocupada como até então tinha ficado Arn. Tudo devia ser colhido nos quintais e, depois, ela tinha de tentar salvar o que pudesse ser aproveitado. Trabalhava tanto quanto os escravos que conseguiu para desenterrar as macieiras com as raízes e transplantá-las para a encosta que dava para Bottenviken e ficava em frente da casa dela e de Arn. Lá a terra jamais iria ficar seca.
Suas mãos ficaram feridas, e as unhas, partidas, por todo o trabalho com a terra, e por isso era uma bênção extraordinária poder se esfregar e limpar à noite na água corrente e com aquilo que Arn chamava de savon. Embora as suas mãos ficassem pretas como o pecado, de mexer na terra e nas plantas, bastava mergulhá-las na água corrente entre os tijolos de pedra para ficarem limpas novamente.
Quando todo o trabalho nos quintais que ela própria comandou e supervisionou ficou pronto, ela foi ter com os irmãos Wachtian na sua oficina para saber de uma coisa e outra, no que dizia respeito ao trabalho deles, o que faziam, por onde iam começar e o que ficaria para mais tarde. Pediu a eles também para ir com ela até a ferraria e à olaria e traduzir, visto que os dois irmãos, além do latim e da sua própria língua, sem a menor dificuldade dominavam a língua estranha dos muitos homens que vieram da Terra Santa. Eles mostraram para ela pontas de flechas de vários modelos, longas e afiadas como agulhas, que podiam passar pela malha de aço dos coletes, de lâminas largas próprias para a caça e para atingir os cavalos dos inimigos e outras, para finalidades que ela nem sequer entendeu direito. Ela passou pela ferraria das espadas e das rodas de ferro, perguntando e tomando nota das situações em cada lugar. Passou ainda pela vidraria onde perguntou a respeito de quais provas de vidros colocadas em cima de uma bancada já podiam ser realmente produzidas em Forsvik e quais as que eram ainda impossíveis de produzir. Foi até as baias para perguntar aos cocheiros quanta forragem um cavalo comia. Foi ao estábulo para saber quanto leite uma vaca produzia e ao matadouro, para saber sobre o sal e as barricas de carnes em salmoura.
Depois de cada uma dessas visitas, Cecília voltava para seu ábaco e seu tinteiro. Isso tinha sido o melhor da visita a Varnhem, até mesmo melhor do que a compra das famosas rosas de Varnhem. Foi lá que ela obteve uma boa quantidade de pergaminhos para fazer os seus livros de contas. Essas ocupações eram para ela o que de melhor podia acontecer. Gostava mais disso do que de plantas e de costura. Afinal, durante mais de dez anos fora ela que escrevera os livros e dirigira todos os negócios de dois conventos.
E, finalmente, conseguiu dominar todos os aspectos, sabendo até da plantação de cada condimento em Forsvik. Foi então que ela procurou por Arn, ainda que fosse o início da noite e ele estivesse para terminar o trabalho na casa-geladeira, perto do córrego maior. Ele ficou satisfeito quando a viu chegar, secando o suor da testa à sua maneira peculiar, com o indicador, querendo de imediato que ela elogiasse as casinhas de resfriamento terminadas. Ela não podia dizer não, mas certamente não foi tão exuberante quanto ele esperava, ao ver o espaço vazio entre paredes de tijolos ainda puros. Havia filas de ganchos de ferro e varas, esperando por comidas que ainda não havia e para isso ela chamou a atenção de uma forma tão severa que ele logo ficou em silêncio no meio da sua alegre falação.
— Venha até a minha sala de contas, onde vou contar tudo para você, meu amor — disse ela, baixando o olhar. Ela sabia muito bem que essas palavras faziam com que ele se derretesse. Mas ela também sabia que essas eram palavras sinceras e não apenas uma lista de palavras a usar pela mulher. Era verdade, sim, ele era o seu amor e bem-amado.
Mas isso não diminuía a necessidade de dizer a ele a verdade, a respeito da loucura que ela encontrou e podia demonstrar por números. Rezou para si mesma em silêncio, para que ele entendesse o que lhe queria dizer, ainda que se mostrasse desinteressado por tudo o que não dissesse respeito à construção para o inverno.
Ainda era cedo nesse final de tarde, inusitadamente quente, e ela não precisou acender as velas, quando abriu os seus livros, pedindo a ele para se sentar ao seu lado. Tudo estava escrito em latim, língua que ela sabia que ele conhecia melhor do que ela.
— Veja aqui, meu amor — disse ela, abrindo nas anotações sobre o que se comia e bebia por dia tanto pela gente como pelos animais em Forsvik. — Isto aqui é o que um cavalo exige de forragem por dia. Aqui, você vê quanto se gasta por mês e aqui, o que nós temos nos nossos celeiros. Por isso, algum dia no meio mais frio do inverno vamos ter trinta e dois cavalos morrendo de fome. A carne dos animais que abatemos e a dos que podemos abater terá terminado por volta do dia da Anunciação. A saída da carne de cordeiro, ainda por cima, é de tal ordem que já não haverá mais antes do Natal. O peixe seco ainda não chegou. Você pode ver que é verdade, não pode?
— Sim — disse Arn. — Parece que os cálculos estão muito bem feitos. E, então, o que precisa ser feito?
— Para o pessoal é preciso que esse peixe seco chegue, como prometido, de preferência antes do jejum. No que diz respeito a carnes, você tem de contratar caçadores, já que veados e javalis existem muitos nas florestas por aqui e lá por Tiveden existe um animal tão grande quanto uma vaca e que dá muita carne. No que toca aos cavalos, acho que você não quer que sejam abatidos no meio do inverno, não é?
— Não, claro que não — sorriu Arn. — Cada um desses cavalos vale mais do que vinte cavalos góticos ou mais ainda.
— Então, temos de comprar forragem — cortou Cecília, rápido. — Não é das coisas mais normais comprar forragem para animais. Cada um produz consoante as suas próprias necessidades. Você tem de tratar disso antes de mais nada, antes de os gelos começarem a assentar e quando esse tempo chegar, nem barco nem trenó vão poder chegar até aqui. Quanto mais cedo no outono, será mais fácil comprar a forragem, pode acreditar.
— Creio, sim, claro — disse Arn. — Vou resolver essa questão amanhã mesmo. E o que mais você encontrou nas suas contas?
— Que nós gastamos em prata quase tanto quanto o valor de Forsvik, sem ter recebido, em contrapartida, qualquer receita. Somente o dinheiro que você pagou para o cortador de pedra em Skara daria para nos manter vivos e gordos por muitos anos.
— Esse ouro, você não precisa contar com ele! — disse Arn, impetuosamente, mas se arrependeu de imediato e sorriu para apaziguá-la e o desculpar por sua impetuosidade. — Eu tenho ouro que chega para tudo o que tem a ver com a igreja em Forshem. É uma arca inteira. Não está incluída em nossos haveres. A igreja, podemos encarar como se já estivesse paga.
— Isso muda muita coisa para melhor — admitiu Cecília, de imediato. — Você podia me ter dito isso antes. Teria gasto menos tinta. Talvez esteja na hora de contar para a sua própria esposa o quanto nós temos ou, melhor dizendo, o quanto você tem, visto que sou proprietária de Forsvik, que aumenta de valor a cada gota de suor que você gasta.
— Tenho mais ou menos mil marcos em ouro — respondeu Arn, embaraçado e olhando para o chão de madeira. — E aí não está incluído o que custará a reconstrução de Arnäs como fortaleza inexpugnável, uma salvação para todos nós quando o dia chegar. E também não está incluído o que vai custar a igreja em Forshem.
Ele se virou, inquieto, ao dizer essas últimas palavras e desviou ainda o olhar, como se soubesse muito bem que ninguém de bom senso poderia acreditar no que ele havia dito.
— Mil marcos — murmurou Cecília, como que paralisada. — Mil marcos em ouro é mais do que o valor de todas as propriedades juntas de Riseberga, Varnhem e Gudhem.
— Isso é certamente verdade, se você que sabe o diz, meu amor — respondeu Arn, em voz baixa, mas parecia mais como se ele se envergonhasse da sua grande riqueza, mais do que se alegrasse com ela.
— Por que razão você não me contou nada antes? — perguntou Cecília.
— Eu pensei em contar para você várias vezes — respondeu Arn. — Mas é como se nunca chegasse o momento certo. É uma longa história, não muito fácil de entender, a de como consegui essa fortuna na Terra Santa. Se eu tivesse contado uma coisa, teria de revelar outra. E é muito o que precisa ficar pronto antes do inverno. O ouro não é tudo, o ouro não nos salva do frio, em especial os meus amigos dos países quentes. Também nunca pensei em esconder este assunto de você, mas de preferência desejava contar tudo numa longa noite fria de; inverno, com os ventos do norte rondando lá fora e você e eu, deitados e iluminados pelo fogo aquecedor da lareira e sem a menor corrente de ar nos atingindo por baixo das coberturas de penas. Era assim qui eu gostaria de contar toda a história para você.
— Se você está esperando pelo inverno, não vai esperar em vão — respondeu Cecília, com um pequeno sorriso que, imediatamente espalhou luz sobre o estranho desânimo deles no meio de toda a conversa sobre riqueza.
— Não, esse inverno, estou esperando por ele — respondeu Arn, sorrindo também.
— Isso não evita que o ouro seja uma defesa ruim contra o frio e a fome. Você precisa, como disse, já a partir de amanhã começar a comprar forragem lá para os lados de Linkõping ou em qualquer outro lugar onde a encontre.
— Prometo, prometo — respondeu Arn. — E o que mais você encontrou na implacável lógica das suas cifras... É, você sabe o que quero dizer com lógica?
— É, eu sei, visto que até mesmo as mulheres no convento podem provar um pouco da filosofia, ainda que se diga que ela é prejudicial em grandes doses para as nossas cabeças. Todavia, com Aristóteles ou sem ele, cheguei à conclusão de que você deve comprar ou mandar construir um barco próprio para carregar argila — respondeu ela, rápida e inocentemente.
— Como assim? — perguntou Arn, pela primeira vez surpreso durante a conversa deles.
— Para os tijolos é preciso tanta argila fresca em todas as vezes que se prepara uma fornada que não vale a pena, nos primeiros tempos, transportar tudo para cá em vez de realizar o trabalho lá em Braxenbolet — continuou Cecília como se nem todo o ouro do mundo lhe preocupasse. — Mas a argila para a oficina de cerâmica é diferente. Se você conseguir trazer a argila até aqui, os ceramistas poderiam continuar trabalhando durante o inverno. Basta conservar a argila úmida, mas de maneira que ela não congele.
Arn olhou para ela com espanto e admiração, impossível para ele de esconder. E ela sorriu, satisfeita, de volta, quase como se tivesse triunfado.
— Cecília, minha amada Cecília — disse ele. — Na verdade, você não é apenas a mulher mais bonita e mais amorosa que encontrei.
É também a mais inteligente e sensata. Com você fazendo as contas a nossa felicidade está feita, isso é claro como água!
— Você devia ter me chamado mais cedo para fazer este trabalho — disse ela, pegando no pescoço dele, de brincadeira, e fingindo-se ofendida.
— Claro, logo desde o primeiro — concordou ele. — Mas a minha cabeça estava tão cheia daquilo que, finalmente, ficou pronto! Será que poderá me perdoar essa idiotice?
— Sim, mas com uma condição — respondeu ela, com um sorriso cheio de mistério.
— Essa condição já aceitei antes mesmo de você indicar qual é! — assegurou ele, de imediato.
— Não trabalhe mais hoje — disse ela. — Fique comigo. Vamos cavalgar juntos, dar apenas uma volta, só para apreciar o fruto do nosso trabalho. A noite está muito amena.
Arn pegou a mão dela sem responder e conduziu-a até a casa deles onde ele puxou para baixo um par de mantas de lã dos varais de roupa no teto, olhou para ela examinando-a e se esticou novamente para pegar aquela roupa especialmente costurada para ela cavalgar que, na realidade, era uma saia para cada perna.
— Achei que você queria evitar a sela de mulher — disse ele. E apesar de estar escuro na sala, pareceu que ele corou de vergonha por ter mexido nas roupas dela.
Ela recebeu a sua roupa de montar e desapareceu no quarto de dormir, fechando a porta atrás de si para trocar de roupa. Enquanto esperava, ele tirou a roupa suja do trabalho, chapinhou o rosto ainda quente e suado com a água fria da corrente e vestiu uma camisa longa azul. E, depois de uma curta hesitação, colocou e enlaçou a sua espada na cintura. Arn sabia que ela gostava de vê-lo de preferência sem espada, mas ele achou absurdo ir cavalgar na floresta, ao lado da sua amada, sem ela.
Como esperava, ela apareceu pouco depois, jovial, já vestida com a sua roupa de montar, olhando para ele com as mantas azuis no braço que tentava esconder a longa bainha da sua espada cuja ponta aparecia. Mas ela não disse nada.
Foram primeiro para as cocheiras que estavam vazias nesta época do ano, já que os cavalos estavam todos nos cercados. Havia uma longa fila de selas penduradas, com marcas estranhas, e Arn escolheu rápido duas em que as rédeas e o freio estavam ligados com correias finas. As mantas, ele entregou-as a ela, antes de colocar nos ombros as suas selas e foi na frente na direção do cercado onde estavam os cavalos. O sol já estava baixo, mas ainda continuava quente como devia num dia de verão, e a brisa era como uma carícia leve nos rostos dos dois.
Uma égua preta e seu potro estavam isolados num cercado menor, para onde eles seguiram primeiro. E entraram pelas traves de madeira até que Arn jogou as selas e chamou pela égua. Esta levantou as orelhas e veio de imediato até ele, com a cabeça balançando e o seu potro trotando atrás de si. Maravilhada, Cecília viu como o seu amado e a égua se cumprimentaram amorosamente, esfregando o rosto contra o focinho, e como ele a acariciou e falou com ela numa língua estranha.
— Venha! — disse Arn, estendendo a mão para Cecília. — Você precisa ser amiga de Umm Anaza, visto que ela será, daqui para a frente, o seu cavalo. Venha e a cumprimente!
Cecília avançou e tentou fazer como Arn, esfregando o seu rosto no focinho do animal que, de início, pareceu um pouco tímido. Arn falou, então, para a égua na mesma língua estranha e em seguida foi como se a égua logo mudasse de atitude e quisesse mais carícias de Cecília, que não se fez de rogada.
— Qual é a língua que você fala com ela? — perguntou Cecília, enquanto ela afagava a égua e o potro que, ainda tímido, ousou avançar um pouco.
— A língua dos cavalos — sorriu Arn, cheio de mistérios, mas abanando a cabeça, divertido. — Foi o que o irmão Guilbert me disse uma vez, quando eu ainda era criança e, nessa altura, acreditei, sim, que havia uma linguagem que apenas os cavalos entendiam. Na verdade, eu diria que falo a linguagem que esses cavalos ouviram desde o nascimento, no Ultramar, ou seja, o sarraceno.
— E eu que só sei falar a língua do povo ou o latim para ela! — riu Cecília. — Pelo menos, devo saber pronunciar o nome dela.
— Ela se chama Umm Anaza, o que significa Mãe Anaza. E o potrinho se chama Ibn Anaza, embora esse tenha sido também o nome de seu pai. Agora, o garanhão que vamos encontrar chama-se Abu Anaza, e o que Abu e Ibn significam você deve poder adivinhar, certo?
— Pai e filho Anaza — soltou Cecília. — Mas o que significa Anaza?
— É apenas um nome — respondeu Arn, jogando a sela com uma pele de cordeiro de base para cima da égua. — Anaza é o nome dos cavalos mais nobres que existem na Terra Santa, e quando as longas noites de inverno chegarem contarei para você a saga de Anaza.
Arn colocou a sela e preparou a égua para montar com uma rapidez surpreendente, embora com isso não demonstrasse estar com pressa e a égua não dificultou a ação, antes parecia querer demonstrar que estava feliz em poder sair.
Cecília conduziu Umm Anaza na direção de um cercado maior onde os garanhões estavam pastando. Arn saltou por cima da cerca e assobiou, de forma que todos levantaram a cabeça do pasto e olharam. No momento seguinte, estavam todos galopando na direção de Arn, de tal maneira que o chão parecia sacudir. Cecília chegou a ter medo, mas logo viu que o medo era desnecessário. Os animais pararam no mesmo momento que Arn levantou a mão e fez sinal para parar. Depois, todos os cavalos fizeram uma roda em volta de Arn, que chamava cada animal pelo nome e tinha algumas palavras de afeto para cada um. Finalmente, fez um afago especial para um dos garanhões que se parecia muito com a égua de Cecília, de pele preta e crina prateada. E não foi difícil entender que esse era o próprio Abu. Cecília não pôde deixar de se emocionar fortemente ao ver como seu marido era carinhoso com esses animais. Era como se eles fossem muito mais do que apenas cavalos. Era como se fossem seus amigos queridos. Desse jeito ninguém tratava os seus cavalos na Escandinávia, pensou ela, mas logo reconheceu que também não havia ninguém na Escandinávia que cavalgasse como Arn. Era uma boa idéia, a de que um tratamento carinhoso produzia melhores cavalgadas do que a dureza e o autocontrole.
Um pouco desse amor ela também conhecia, achava ela, pensando, enquanto, momentos depois, saíam de Forsvik na direção do norte, ao longo das praias do mar de Bottensjö. Era como se aquela égua não se apresentasse como a escrava que era e que fora educada para ser, antes era como se ela gostasse mesmo de suportar a sua nova dona e quisesse falar através dos seus movimentos delicados, movimentos que não eram como os dos outros animais.
O sol já tinha descido no horizonte, abaixo do topo das árvores onde começava uma floresta de pinheiros, a própria Tíveden. Arn conduziu seu cavalo por uma trilha, subindo, com Cecília no seu encalço e logo os dois estavam em cima de um ponto elevado de onde se via o mar de Bottensjö e mais longe o lago Vättern, brilhando à luz do anoitecer. Os cheiros dos cavalos e do final do verão se misturavam numa mágica com a doçura da putrefação das folhas e da floresta de pinheiros.
Arn se aproximou, então, de Cecília, dizendo que ele agora já era suficientemente velho para não poder ficar em pé no lombo do cavalo. A questão agora era manter-se bem seguro e não cair da sela. Primeiro, Cecília não entendeu aonde ele queria chegar, mas depois recordou aquela vez em Kinnekulle, quando cavalgaram sozinhos pela primeira vez e ele ficou em pé em cima do cavalo, avançando a toda a velocidade, embora com o olhar nela e não no caminho. Acabou batendo com a cabeça num ramo de carvalho e derrubado no chão, quase desmaiado.
— Daquela vez você quase fez o meu coração parar — murmurou Cecília.
— Não foi essa a minha intenção — respondeu Arn. — Eu queria ganhar o seu coração e não pará-lo.
— E queria ganhá-lo mostrando que cavaleiro você era, ao ficar em pé em cima do cavalo, não é?
— É verdade. Eu queria ganhar o seu coração de qualquer maneira. Se ficar de cabeça para baixo ajudasse, eu teria feito isso também. Mas fui bem-sucedido?
Ao mesmo tempo que brincava com essa arte de conquista, ele se levantou sobre os braços em cima da sela, inclinou o corpo lentamente, com as pernas primeiro para os lados e, por fim, juntas, para cima. E, de repente, ele estava equilibrado nas mãos, de cabeça para baixo, na sela, enquanto o seu garanhão continuava como se estivesse habituado a qualquer loucura por parte do seu dono.
— Você não precisa se mostrar desse jeito — gaguejou Cecília. — Se eu assegurar que você já tem o meu coração dentro de uma caixa dourada, você, por favor, se senta e monta a cavalo como todo mundo?
— Está bem — respondeu Arn, rodando rápido o corpo e se sentando na sela com os dois pés nos estribos. — Sinto que estou começando a ficar velho para fazer essas artes. Por sorte, já somos marido e mulher.
— Você não deve minimizar a bondade e a vontade do Senhor em nos fazer marido e mulher — disse Cecília, severa, desnecessariamente severa, percebeu ela de imediato. Mas ela não podia evitar de achar que a brincadeira já tinha ido longe demais.
— Acho que Nossa Senhora não vai levar a mal que nós, na nossa felicidade, façamos brincadeiras a respeito do tempo em que o nosso amor nasceu — respondeu Arn, cautelosamente.
Cecília se condenou por ter metido Deus no assunto da conversa, quando, pela primeira vez, a conversa decorria despreocupada e brinca-lhona. Como receava, eles continuaram cavalgando, agora debaixo de um silêncio do qual nem um nem outro sabia sair com naturalidade.
Chegaram, então, a uma clareira, perto de um córrego onde o musgo brilhava com uma cor verde, uma cor mágica e atraente, refletindo a última luz do dia entre os troncos das árvores. E junto de um grande carvalho, grosso e já meio podre, o musgo estava disposto como se fosse uma grande e convidativa cama, com uma ou outra rosa pequenina aqui e ali, rosinhas selvagens da floresta.
Era como se Umm Anaza se deixasse conduzir pelos pensamentos de Cecília, como se a égua tivesse entendido tudo aquilo que corria pelas recordações de Cecília, quando esta viu aquele lugar. A égua, simplesmente, virou de direção, sem que sua dona tivesse dado qualquer comando. Sem dizer nada, Cecília desceu e estendeu o seu manto sobre o musgo verde.
Arn a seguiu, também desceu e fez girar as rédeas à volta das pernas da frente dos animais, antes de chegar até ela e colocar no chão o seu próprio manto.
Eles não precisavam dizer nada, nem a respeito da louca postura em cima do lombo do cavalo, nem a respeito das recordações de amor, já que tudo estava escrito, nitidamente, nos seus rostos.
Ao se beijarem, os dois estavam sem medo, como se os tempos difíceis depois da noite de casamento nunca tivessem existido. E ao descobrirem a felicidade de não haver mais esse medo chegou o desejo de novo para os dois, com aquela mesma força como quando tinham dezessete anos.
A senhora da família Folkeana foi cruelmente assassinada por seu próprio marido e senhor. Essa atrocidade aconteceu no fim de uma tarde, e à noite o assassino viu o sol se pôr pela primeira vez depois do seu crime hediondo.
O nome do criminoso era Svante Sniving, da família Ymse, e sua esposa folkeana assassinada era Elin Germundsdotter, de Ãlgarás. Eles tinham apenas um filho, Bengt, que estava com treze anos de idade.
Depois de ter visto a mãe ser morta pelo seu pai, o jovem Bengt fugiu para a casa do avô materno, Germund Birgersson, de Algaräs. De lá, nessa mesma noite, seguiram mensagens em todas as direções para todos os burgos folkeanos, situados a um dia de viagem.
Foi no dia em que os cavaleiros da mensagem de fogo, jovens com os seus mantos azuis bem usados, chegaram a Forsvik. Os visitantes inesperados foram recebidos, primeiro, com pão, sal e cerveja, por Cecília, e eles mataram a sede rápido, antes de relatar o motivo da sua presença. Chegavam com a mensagem de fogo folkeana para o senhor Arn.
Cecília disse que logo iria procurar o dono da casa e pediu aos visitantes para aceitar mais presunto e cerveja, enquanto ela estivesse fora. Com o coração batendo forte pela preocupação, ela correu num ritmo leve até o picadeiro, de onde ouviu as batidas de cavalos galopando e onde também foi encontrar Arn, junto com os garotos Sune e Sigfrid e os dois sarracenos que trabalhavam como professores de cavalaria. Ela fez sinal para Arn, ansiosa, e logo ele a descobriu e abandonou o grupo de cavaleiros em que estava e galopou como o vento por todo o campo até ela. Estava cavalgando Abu Anaza.
A grande distância, já ele tinha descoberto a ansiedade de Cecília e, por isso, ele se jogou de cima do cavalo e foi terminar abraçado a ela, num único movimento, assim que parou.
— Chegou uma mensagem de fogo dos folkeanos — respondeu ela, à sua pergunta feita sem palavras.
— Mensagem de fogo dos folkeanos? O que é isso? — perguntou ele, perplexo.
— Dois homens, jovens, de rostos muito sérios, chegaram a cavalo e só disseram isso, que estavam chegando com uma mensagem de fogo — respondeu ela. — Eu não sei nada mais. Talvez você possa perguntar aos dois garotos que estão aí?
Arn, que não tinha mais nada a sugerir, fez como Cecília tinha proposto e chamou todos os quatro cavaleiros que estavam com ele antes, assobiando e dando dois berros. Eles vieram de imediato, a toda velocidade, e pararam a alguns passos de distância.
— Chegou uma mensagem de fogo dos folkeanos, será que algum de vocês pode me dizer do que se trata? — perguntou ele a Sune e a Sigfrid, ao mesmo tempo.
— Isso significa que todos nós, homens folkeanos, de Forsvik, devemos largar tudo o que estivermos fazendo, nos armarmos de imediato e seguir os homens que trouxeram a mensagem — respondeu Sigfrid.
— Ninguém do nosso clã pode dizer não a uma mensagem de fogo. Isso significaria eterna desonra — acrescentou Sune.
— Mas vocês são apenas dois garotos. Saírem armados por aí não me parece uma coisa que seja boa para vocês — sussurrou Arn, mal-humorado.
— Somos folkeanos completos, jovens ou não, mas folkeanos. E somos os únicos que o senhor tem a seu lado, em Forsvik, senhor Arn — respondeu Sune, cheio de vontade de partir.
Arn suspirou e refletiu, os olhos no chão. Depois, falou qualquer coisa que soou como ordens para os dois cavaleiros sarracenos e apontou para as duas vestes azuis que eles estavam usando e os dois guerreiros da Terra Santa fizeram sinal de obediência com a cabeça e correram na direção do burgo.
— Vamos juntos procurar nossos parentes que trouxeram a mensagem, e perguntar o que querem — disse Arn, avançando para Cecília, ajudando-a a montar na sela na sua frente e partindo em altíssima velocidade na direção da velha casa-grande de Forsvik, de tal modo que Cecília, uma hora gritava, outra hora ria, durante a curta cavalgada.
Dentro da casa-grande, os dois parentes desconhecidos fizeram uma vênia respeitosa diante de Arn quando este entrou e um deles avançou, após uma pequena hesitação, e com um dos joelhos no chão, estendeu os braços para Arn e na mão estava a mensagem de fogo que, na realidade, era um pedaço de madeira, com a inserção de uma marca de leão na superfície.
— Estamos entregando ao senhor a mensagem de fogo e pedimos que nos siga com todos os homens que possa armar — disse o jovem folkeano.
Arn recebeu a mensagem de fogo, mas não sabia o que devia fazer com ela. Justo nesse momento, chegaram Sune e Sigfrid que fizeram uma vênia solene diante dos dois mensageiros e se viraram depois para Arn.
— Eu estive fora, na Terra Santa, durante muitos anos e não sei o que vocês dois estão querendo de mim — disse Arn para os dois mensageiros. — Mas se me disserem do que se trata, certamente, irei fazer o que a honra exige.
— Trata-se de Svante Sniving, ele que é conhecido por gostar muito e, em especial, depois de beber muita cerveja, de brigar com os escravos e o pessoal da casa, inclusive com o seu próprio filho — explicou o segundo dos mensageiros que até então não tinha dito nada.
— Isso não honra Svante Sniving como homem — respondeu Arn, refletindo. — Mas, diga-me, o que é que tenho a ver com isso?
— Ontem, ele atacou e matou a esposa, a senhora Elin Germundsdotter, da nossa família. E já conseguiu ver o sol se pôr uma vez — explicou o primeiro mensageiro.
— A mensagem de fogo já seguiu ontem à noite para todos os folkeanos que podem chegar a Ymseborg antes de o sol se pôr amanhã — elucidou o outro jovem parente.
— Acho que já entendi — acenou Arn. — O que é que podemos esperar como reação da parte desse tal Svante?
— É difícil saber. Ele tem doze escudeiros, mas nos informaram que vão ser cinqüenta ou mais, amanhã. No entanto, é preciso viajar hoje à noite ou, de preferência, agora mesmo — respondeu o primeiro dos dois parentes.
— Somos apenas três folkeanos, dos quais dois garotos, aqui, em Forsvik. Mas posso levar também meus escudeiros? — perguntou Arn, recebendo de volta veementes acenos positivos de cabeça.
Nada mais havia a dizer ou a perguntar. E levou menos de uma hora para aprontar os cavalos de carga e vestir os cinco cavaleiros de Forsvik para a luta. O sol estava ainda bem alto quando iniciaram a viagem na direção noroeste.
Aconteceu pouco depois da Anunciação e a folhagem nas florestas estava morrendo de vermelho e ouro. Chegava o outono, e o anoitecer já começava mais cedo, o que era bom para os crentes muçulmanos, visto que o seu nono mês, o do jejum do Ramadã, tinha começado dois dias antes. Arn chegou a refletir no início da viagem a respeito da exceção nas leis do Alcorão, de que o jejum não precisava ser seguido em tempo de guerra. No entanto, essa viagem não poderia ser considerada bem uma guerra, apenas uma execução.
Ele cavalgou até seus acompanhantes muçulmanos e perguntou a eles, bem diretamente, o que achavam. Mas eles apenas riram, dizendo que, assim, no início do jejum e com esse tempo fresco, com o sol que voltou a ter juízo e a se deitar mais cedo, não havia como ter preocupações. Além disso, era preciso cavalgar vagarosamente, sem precisar suar, seguindo esses dois guias e seus cavalos lentos. Arn concordou sem falar e ficou pensando que era sorte o mês do jejum não cair no meio do verão nos próximos anos. Se não, seria difícil ficar sem beber água e sem comer, nessas latitudes escandinavas, desde o sol nascer até ele se pôr.
Eles continuaram a viagem até depois de o sol descer no poente e a escuridão ficar densa. E só então foram obrigados a parar e a acampar para passar a noite. Ali e Mansour, que agora viajavam de vestes azuis sobre as malhas de aço revestidas de couro, não fizeram questão de parar para comer e beber logo que o sol desceu no horizonte.
No dia seguinte, dia em que o sol se poria pela terceira vez depois do assassinato cometido por Svante Sniving contra sua mulher folkeana, reuniram-se cinco dúzias de cavaleiros junto de Ymseborg. Durante a noite, os escudeiros colocaram fogueiras em todos os cantos, junto das paliçadas do forte como sinal de que nenhuma fuga seria tolerada. O portão de madeira do burgo estava fechado e, por cima do portão, estavam quatro arqueiros olhando fixamente e com receio para todos os mantos azuis reunidos em conselho a menos de alguns tiros de flecha.
O líder dos folkeanos, no caso, era Germund Birgersson, o pai da assassinada Elin. Ao seu lado, estava um garoto, triste e com manchas roxas, vestindo um manto metade amarelo e metade preto, que eram as cores da família de Svante Sniving.
Arn deu uma volta pela fortaleza de madeira, acompanhado de Ali e Mansour. Estavam de acordo que, se fosse o caso de tomar o forte, seria mais fácil botar fogo nele, mas também não dava para apenas passar depois pelos muros de madeira. Além disso, sabia Arn agora, havia pressa, tudo tinha que ser feito antes de o sol se pôr.
Ao voltar, Arn reuniu-se com Germund Birgersson para saber exatamente o que devia ser feito. Pelo que tinha entendido, o garoto devia herdar Ymseborg e, por isso, não seria uma pena botar fogo em tudo?
Germund sorriu amargamente, dizendo não acreditar que fosse necessária muita força para arrombar o portão. Bastaria apenas que Arn, cuja lenda também já tinha chegado ao lugar, o ajudasse a convencer os homens que guardavam o citado portão. Arn respondeu-lhe, falando que não tinha nada contra e que estava ali para ajudar no que fosse preciso e estivesse ao seu alcance.
— Muito bem, você é um homem com muita honra e qualquer outra atitude sua me espantaria enormemente — grunhiu Germund Birgersson, satisfeito. E, então, levantou-se, assumindo uma posição rígida e jogando o seu manto por cima dos ombros. — Monte no seu cavalo e me siga. E vamos logo resolver este pequeno imbróglio de uma vez!
Na expectativa, Arn seguiu para o seu cavalo, ajustou um pouco melhor a sela e logo se juntou ao lado de Germund e a caminho do portão de Ymseborg. Nenhum outro dos folkeanos os seguiu.
Eles avançaram tanto que, facilmente, teriam sido atingidos por flechas disparadas de dentro do forte, mas ninguém fez isso.
O velho chefe folkeano deu uma astuta piscadela para Arn e continuou avançando ainda mais, com Arn o seguindo sem hesitar. Qualquer hesitação seria a morte quase certa.
— Eu sou Germund Birgersson do clã folkeano e estou aqui diante de Ymseborg por uma questão de honra, não para fazer a guerra nem para saquear. Sou o pai de Elin e estou aqui para exigir o direito que é meu e é por isso, também, que aqui estão todos esses meus parentes e amigos — disse Germund Birgersson, em voz alta e clara, quase como se estivesse cantando a sua mensagem.
Ninguém em cima dos muros de Ymseborg respondeu, mas também ninguém tocou em armas. Germund esperou uns momentos, antes de continuar.
— Não queremos prejudicar Ymseborg, que, em breve, será herdada pelo jovem Bengt, que é do nosso clã. Por isso, juro o seguinte. Não queremos a morte de ninguém, a não ser a de Svante. Não queremos destruir as casas, nem ferir os escravos e a gente da casa, nem sequer os escudeiros. Não pretendemos nem visitar o burgo quando tivermos realizado o que pretendemos. Assim acontecerá se vocês abrirem esse portão dentro de uma hora e abaixarem as suas armas. Todos vocês vão ficar a serviço do jovem senhor Bengt ou de quem colocarmos como representante em seu lugar. As suas vidas continuarão do mesmo jeito como até aqui. Mas se vocês se mostrarem contra esta proposta juro que nem mesmo um único escudeiro sairá vivo daqui. Ao meu lado está Arn Magnusson, e ele jura o mesmo que eu!
Lentamente, Germund puxou a rédea do seu cavalo, virando e iniciando a volta pelo mesmo caminho. Arn seguiu-o, com uma expressão séria, embora sentindo uma grande vontade de rir. Alguém tinha jurado de morte em seu nome, sem nem mesmo perguntar antes.
Nem uma única seta foi disparada contra eles, nem sinal de escárnio ou zombaria.
— Acho que vamos ter este assunto resolvido ainda esta tarde — grunhiu Germund Birgersson quando se sentou pesadamente no seu lugar anterior, no acampamento dos folkeanos, e estendeu a mão para mais um pedaço de porco assado no fogo.
— O que faremos depois com o cadáver? — perguntou Arn.
— O da minha filha, vou levar para Algaräs, onde lhe darei uma sepultura cristã na nossa igreja — disse Germund. — Svante e a sua cabeça, vamos costurar dentro de uma pele de vaca e mandar para os seus parentes. E vamos colocar um representante ,em Ymseborg, no lugar do garoto Bengt.
— E o garoto? — perguntou Arn. — Não pode deixar de ser um tempo muito difícil aquele que o espera, depois de ter perdido a mãe e o pai.
— Não. Isso é verdade. Muito eu gostaria de fazer para que a vida desse jovem Bengt fosse mais luminosa — disse Germund, pensativo. Jovem como ele é, ainda não serve para nada. O seu espírito não se inclina para os trabalhos da terra. Sua conversa boba é sobre cavaleiros e escudeiros do rei ou sobre serviço em Arnäs. Todos os jovens pensam e falam da mesma maneira hoje em dia.
— É... — disse Arn, pensativo. — Os jovens orientam fácil a sua mente para a espada e a lança, em vez de para o arado e a enxada. Será que você vai conseguir tirar tudo da cabeça dele e fazer dele um camponês?
— Eu já estou velho demais para esses cuidados — murmurou Germund, contrariado, diante da idéia de que, antes de o sol se pôr, iria ter um garoto de treze anos nas costas para tentar fazer dele um homem.
Arn se desculpou e foi procurar Sune e Sigfrid, que encontrou, de expressões compenetradas, a ponto de começar a afiar as ponteiras das suas flechas. Ele pegou a pedra de amolar das mãos de Sune e mostrou como o trabalho devia ser feito, com melhores resultados. Enquanto isso, contou para os dois a respeito do destino lamentável do jovem Bengt, que não só ficou órfão de mãe como iria ficar, em breve, órfão de pai. E, além disso, seria obrigado a ir para a casa do velho Germund para se tornar camponês tal como acontecia cem anos atrás. Quem sabe, pensou Arn em voz alta, talvez não fosse uma má idéia se Sune e Sigfrid se encontrassem com Bengt nas próximas horas, já que os três eram os únicos escudeiros ainda jovens. Não iria prejudicar em nada se contassem para Bengt o que eles próprios estavam aprendendo em Forsvik.
Com um sorriso nos lábios que teve dificuldade em esconder, Arn se levantou de repente, deixando os seus dois jovens armeiros.
Tinha decorrido uma hora e todos os folkeanos se apresentaram e avançaram a cavalo, lentamente, na direção do portão de Ymseborg que se abriu para eles quando estavam a um tiro de flecha de distância. Entraram na praça do burgo, colocaram seus cavalos em fila e ficaram esperando. Poucas eram as pessoas que se viam, além de alguns filhos de escravos espreitando pelas frestas das casas ou debaixo das pontes. Uma ou outra jovem solteira, preocupada, corria à procura de alguma criança em fuga.
O silêncio se fez, totalmente, em todo o burgo. Ouvia-se apenas algum cavalo relinchando ou a batida de algum estribo. Ninguém dizia nada e nada acontecia. Ficaram esperando por muito tempo.
Finalmente, Germund se cansou de esperar e fez sinal para dez homens jovens que desceram dos cavalos, empunharam as suas espadas e entraram na casa-grande. Logo se ouviram gritos e sussurros e, em breve, eles voltaram com Svante Sniving de mãos e pés amarrados e o obrigaram a se ajoelhar, diante da fila de cavaleiros onde apenas um manto amarelo e preto se via entre os restantes, todos azuis. Era o jovem Bengt que ainda conservava as marcas, as manchas roxas, que os punhos do seu pai haviam feito no seu rosto, agora inflexível.
— Exijo o meu direito como homem livre em terras dos gotas e segundo as leis dos gotas! — gritava Svante Sniving com voz sibilante, demonstrando que não estava menos bêbado do que habitualmente, ainda que desta vez fosse a última.
— Aquele que mata um folkeano, homem ou mulher, jovem ou velho, não tem nenhum direito, a não ser o de viver até o terceiro pôr-do-sol — respondeu Germund Birgersson, de cima de seu cavalo.
— Pago o dobro da penitência e quero apresentar o meu caso diante da assembléia dos gotas! — gritava Svante Sniving de volta como se, realmente, acreditasse nesse seu direito legal.
— Nós, folkeanos, jamais aceitamos quaisquer pagamentos em penitência, nem pelo dobro, nem pelo triplo. Isso nada significa para nós — respondeu Germund, com tal desprezo na voz que deu azo a alguns risos na fila dos severos cavaleiros.
— Então, exijo o meu direito ao juízo final na eternidade, o direito a morrer como homem livre e não como escravo! — gritava agora Svante, continuando mais raivoso do que medroso na voz.
— Exigir um duelo, de nada serve a você — desdenhou Germund Birgersson. — Entre os parentes que se juntaram para resolver este caso, temos aqui Arn Magnusson, ao meu lado. Ele seria o nosso homem para duelar com você. E, então, você iria morrer mais rápido do que pelo machado do carrasco, mas apenas com um pouco mais de honra por esse motivo. Fique feliz por não o enforcarmos como a qualquer escravo e pense que sua derradeira honra na vida é a de morrer sem pedir piedade e sem mijar!
Germund Birgersson fez sinal com uma das mãos e alguns dos homens jovens, que foram buscar Svante Sniving na casa-grande, trouxeram logo o cepo e o machado. Germund apontou em silêncio para aquele dos homens que parecia mais forte e este pegou no machado sem hesitar e logo a cabeça de Svante Sniving caía por terra, enquanto dois outros homens seguravam o seu corpo estrebuchando contra o chão, até que o sangue parasse de sair pelo pescoço.
Naquele momento, Arn ficou observando, pensativo, o rosto do jovem Bengt. Houve uma pequena contração, ao mesmo tempo que Arn ouviu o som do golpe do machado, mas nada mais. Nem uma lágrima, nem sinal-da-cruz.
Arn não estava certo se uma tal dureza era boa ou ruim. Mas que isso aí era o comportamento de um jovem que, sem restrições, descontroladamente, odiava o seu pai, isso era certo.
As poucas coisas de que era preciso tratar aconteceram rápido. Enquanto o corpo de Svante Sniving era arrastado para o matadouro, junto com a sua cabeça, para tudo ser costurado numa pele de vaca, o jovem Bengt desceu do seu cavalo e avançou lentamente em direção ao lugar onde o sangue do seu pai ainda corria pelo chão à luz do anoitecer.
Bengt retirou, então, o seu manto sverkeriano dos ombros, deixou-o cair na terra e encharcou-o no sangue do seu pai.
Os folkeanos continuaram montados nos seus cavalos, os rostos imutáveis, observando o jovem cuja coragem e honra valiam admiração. Germund Birgersson fez sinal para Arn descer do cavalo e o acompanhar até Bengt.
Germund avançou lentamente para ficar bem atrás do jovem Bengt e apoiou a sua mão esquerda no ombro esquerdo do garoto. Depois de Germund ter dado uma olhadela para Arn, este fez o mesmo com a sua mão direita. Os dois esperaram uns momentos em silêncio, enquanto o jovem pareceu se reanimar para o que tinha a dizer. Não era fácil, visto antes querer falar com voz firme.
— Eu, Bengt, filho de Svante Sniving e Elin Germundsdotter, assumo agora o nome de Bengt Elinsson, na presença dos meus amigos! — anunciou ele, finalmente, com voz fina, mas sem estremecimentos ou insegurança.
— Eu, Germund Birgersson, e meu parente, Arn Magnusson reagiu Germund —, aceitamos você, Bengt, na nossa família, no nosso clã. Você é agora um folkeano, e um folkeano será para sempre-Estará sempre conosco e estaremos sempre com você.
No silêncio que se fez em seguida, Germund deu a palavra a Arn. Mas Arn não sabia o que devia dizer ou fazer antes de Germund se inclinar para ele e o instruir, num murmúrio zangado. Arn, então, retirou o seu manto dos ombros e o colocou em volta de Bengt e todos os homens montados empunharam as suas espadas que apontaram primeiro para o céu e depois para o jovem Bengt.
Por uma tradição de sangue, Bengt Elinsson tinha sido aceito na família folkeana. Para o burgo de sua propriedade, Ymseborg, seu avô colocou dois locatários libertados para administrar a herança. Bengt não queria ficar em Ymseborg nem mais um dia.
Entretanto, o que ele queria logo o seu avô ficou sabendo, assim que saíram do burgo e todos os folkeanos se despediram e se separaram no acampamento. Com imenso ardor, pediu para seguir com Arn Magnusson para Forsvik, onde, segundo os outros dois garotos que tinham vindo na companhia de Arn, aconteciam coisas maravilhosas.
Germund achou que, nesse caso, era melhor tomar uma decisão rápida. O jovem Bengt, sem dúvida, precisava ter outra coisa em que pensar e quanto mais depressa melhor. Seguir para Algaräs apenas para assistir ao funeral e cumprir uma semana de luto talvez fosse aquilo que a honra exigia, pelo menos de um homem mais velho. Mas o garoto que, em menos de três dias, perdera a mãe e o pai, não podia ser tratado como todos os outros.
Germund foi até Arn Magnusson, que estava falando em língua estrangeira com os seus escudeiros, e perguntou sem rodeios se Arn podia oferecer aquilo que o agora jovem folkeano tanto desejava. Arn não se mostrou nem um pouco surpreso com essa pergunta e respondeu que não havia qualquer problema.
E assim acabou acontecendo terem viajado de Forsvik três folkeanos para fazer prevalecer a honra da família e terem voltado quatro. durante a primeira parte do outono, a ordem começou a dominar em forsvik, de forma que até o olhar crítico de Cecília não pôde deixar de notar outra coisa.
Quase todos os dias chegavam barcos carregados com forragem para os animais no inverno e de Arnäs começou a chegar em quantidades apreciáveis o bacalhau norueguês de Lofòten, o que significava que Harald Dysteinsson tinha sido bem-sucedido também na sua segunda viagem com o enorme barco dos templários.
Com o terceiro carregamento de bacalhau vieram também os novos escravos que Arn tinha encomendado de Eskil. Eram Suom, muito competente em tecelagem e costura, e seu filho Gure, de quem se falava ser especialmente habilidoso nas construções com madeira. E o caçador Kol e o seu filho, Svarte.
Arn e Cecília, que por vários motivos ficaram satisfeitos em dar guarida a esses escravos, foram recebê-los como se fossem visitantes convidados. Cecília pegou em Suom pelo braço e foi lhe mostrar a sala da tecelagem, quase pronta. Enquanto isso, Arn levou os três homens para o dormitório dos escravos, à procura de alojamento para eles. Mas logo achou que o alojamento estava ruim demais para suportar o inverno seguinte e, por isso, deu ordens a Gure para começar o trabalho em Forsvik reconstruindo os três piores alojamentos para escravos e, assim que terminasse, viesse a construir novos.
Gure recebeu uma equipe de quatro escravos para dirigir conforme lhe parecesse melhor. E se quisesse novas ferramentas era só pedir ao pessoal das forjas.
Kol e seu filho Svarte, segundo queria Arn, deviam ter lugar na antiga casa-grande, mas eles disseram que preferiam morar numa casa pequena e simples. Estavam habituados a ficar sozinhos e como caçadores tinham outros horários que não os do resto do pessoal.
Arn achava que conhecia Kol da juventude, mas precisou fazer várias perguntas antes de ver confirmada essa idéia. Eles haviam caçado juntos quando Arn tinha dezessete anos de idade e Kol era aprendiz junto de seu pai que se chamava Svarte, tal como o filho dele. O velho Svarte tinha morrido e estava sepultado em Arnäs. Por isso, tinha sido mais fácil realizar a venda de Kol e seu filho. Em Arnäs, ninguém gostava de deixar os velhos escravos, incapacitados, sem familiares por perto.
Arn se conteve diante dessas explicações e evitou perguntar a respeito da mãe do garoto. Ainda não tinha se habituado à idéia de ser proprietário de pessoas, visto que desde os cinco anos de idade que vivia entre monges e templários, para quem qualquer pensamento sobre escravatura era uma abominação. E ele prometeu a si próprio levantar essa questão com Cecília o mais cedo possível.
Para Kol, Arn disse que primeiro havia que escolher cavalos e selas para ele e seu filho, a fim de que pudessem circular pela região, aprender a encontrar os lugares certos e pensar em como se poderia fazer a caça dos animais selvagens da região. Em silêncio, por tristeza ou timidez, Kol e Svarte seguiram em direção aos cercados com os cavalos, acompanhando Arn que laçou dois deles, escolhidos mais pela sua mansidão do que pela sua rapidez e impetuosidade.
Antes de os caçadores se habituarem com os cavalos, era bom deixá-los na cocheira para descansar e não soltá-los de novo no cercado, para junto dos outros. Poderia tornar-se difícil apanhá-los novamente, avisou Arn enquanto levavam os cavalos para o burgo.
Para sua alegria, Arn descobriu que Kol ficou muito satisfeito com esses cavalos, falando muito com o seu filho na língua dos escravos, enquanto apontava com movimentos das mãos para os pescoços e as pernas dos animais. Arn não pôde deixar de perguntar a Kol o que ele estava contando para o seu filho e recebeu como resposta que tinha sido num cavalo desses que Arn tinha chegado uma vez a Arnäs há muito, muito tempo. E que todo o pessoal achou que o animal era ruim das pernas. Até mesmo Kol e seu pai tinham sido uns idiotas, achando o mesmo, até que viram o senhor Arn cavalgar esse tal de Kamil ou coisa parecida.
— Chimal — corrigiu Arn. — Significa Escandinávia na língua do país de onde esses cavalos vêm. Mas de onde você vem?
-— Eu nasci em Arnäs — respondeu Kol, em voz baixa.
— Mas e o seu pai com quem eu também caçava, de onde ele veio?
— De Novgorod, no outro lado do mar Báltico — respondeu Kol, de rosto fechado.
— E os outros escravos em Arnäs, de onde vieram ou de onde vieram seus ancestrais? — continuou Arn, incansável, embora percebesse que Kol preferia não falar sobre esse tema.
— Todos vêm do outro lado do mar — respondeu Kol, sem muita vontade. — Alguns de nós sabem, outros apenas acham que vieram de Miklagârd, outros ainda falam de Rússia ou Polônia, Estônia ou Sãrland. São muitas as sagas e pouco o conhecimento a respeito disso. Os nossos pais ou mães foram trazidos uma vez como prisioneiros de guerra, acham alguns. Outros acham que sempre fomos escravos, mas nisso eu não acredito.
Arn ficou em silêncio, mas teve de se conter antes de declarar de imediato para Kol e seu filho que ambos agora podiam considerar-se como livres. Era melhor pensar bem no assunto e primeiro aconselhar-se com Cecília. Não fez mais perguntas embaraçosas, antes pediu a Kol e seu filho que nos próximos tempos se dedicassem a conhecer a região e não a caçar para ganhar carne, a não ser que a ocasião se apresentasse por casualidade. Mas como ele próprio adivinhava, era mais importante que primeiro aprendessem como e onde encontrar os animais.
Kol acenou com a cabeça, concordando. E aí eles se separaram.
Arn pensou em aproveitar a ocasião e falar sobre a questão dos escravos durante a viagem para Bjälbo, onde participariam da festa de noivado do filho Magnus com Ingrid Ylva, a jovem sverkeriana.
Mas Cecília também havia pensado em dedicar essa viagem, pelo menos as primeiras horas em que nada acontecia, durante a travessia do lago Vättern, a falar de assuntos que exigiam mais tempo e reflexão. Assim que o barco se fez ao mar, ela falou muito e sem parar a respeito da velha Suom, a competentíssima tecedeira, e da arte quase miraculosa que a mulher detinha nas suas mãos. A pedido de Cecília. Eskil mandou um pacote bem pesado com tapeçarias feitas por Suom e que antes cobriam as paredes de Arnäs. Uma parte dessas tapeçarias»
Arn já tinha visto. Estavam já nas paredes do quarto de dormir deles algumas das obras de Suom.
Arn murmurou qualquer coisa, que certas imagens de Suom eram demasiado estranhas para o seu gosto, em especial, aquelas que apresentavam Jerusalém com ruas de ouro e os sarracenos com chifres na testa. Essas imagens não correspondiam à verdade e isso ele podia testemunhar melhor do que a maioria.
Cecília ficou um pouco distante e disse que a beleza das imagens não tinha somente a ver com a verdade, mas também, de igual maneira, com as cores que se juntavam e com os pensamentos e as fantasias que as imagens despertavam, caso bem feitas. Desse jeito, eles fugiram por momentos do assunto de que ela tinha por intenção falar e foram parar numa discussão sobre o que era verdade e o que era bonito.
Ele desapareceu por momentos, seguindo até a popa do barco para ver como estavam os cavalos e Sune e Sigfrid que foram autorizados a acompanhá-lo para tomar conta dos animais, embora os garotos se considerassem mais como escudeiros do senhor Arn. Quando este voltou, Cecília foi direto ao assunto que tinha em mente.
— Eu quero que nós libertemos Suom e seu filho Gure — disse ela, rápido e baixando os olhos para o tampo da mesa do navio.
— Por quê? Por que justo Suom e Gure? — perguntou Arn, curioso.
— Porque o trabalho dela tem grande valor e pode dar em prata muitas vezes o valor de uma escrava — respondeu Cecília, rápido, sem olhar para Arn.
— Você pode libertar quem você quiser em Forsvik — disse Arn, pensativo. — Forsvik é seu, assim como todos os seus escravos. Mas eu próprio gostaria de libertar Kol e seu filho, Svarte.
— Por que os dois caçadores? — perguntou ela, surpreendida pelo fato de a conversa ter passado adiante da questão decisiva.
— Digamos que Kol e seu filho tragam para casa neste inverno oito veados — respondeu Arn. — Isso não fará apenas a nossa comida mais variada, mas representa mais do que o valor de um escravo e aPenas num só inverno. Mas assim acontece com todos os escravos, se
a gente pensar bem. Todos acabam produzindo um valor superior àquele que eles próprios valem.
— Você quer dizer mais alguma coisa? — perguntou ela, com uma olhadela inquiridora para ele.
— Sim — disse ele. — E é uma coisa que eu deixei para lhe falar durante esta viagem...
— Eu também pensei assim! — interrompeu ela, feliz, mas logo se conteve, levando a mão para tapar a boca e sinalizando que não queria dizer mais nada antes de Arn completar o seu pensamento.
— Deus não criou o homem ou a mulher para ser escravo. É isso que eu acho — continuou Arn. — Onde é que nas Escrituras isso está escrito? Você, assim como eu, viveu num mundo, por trás dos muros, onde uma coisa dessas é impensável. Acho que nós dois pensamos do mesmo jeito.
— Isso mesmo. Eu acho, também — disse Cecília, falando sério. — Mas o que ainda não consegui descobrir é se isso está errado em mim ou se está errado em todos os nossos parentes. Nem mesmo os próprios escravos parecem acreditar em outra coisa, senão que Deus criou uma parte de nós como proprietários e outra como escravos.
— Muitos dos escravos nem acreditam em Deus — observou Arn. — Mas justo esse tipo de pensamento também eu já tive. Sou eu que estou errado? Ou eu seria mais inteligente e melhor do que todos os nossos parentes e amigos, melhor do que Birger Brosa e Eskil?
— Sim — disse ela. — Até mesmo na hora de colocar essa questão, nós dois somos iguais, você e eu.
— Mas já que estamos de acordo, como vamos fazer? — pensou Arn, falando alto. — Se amanhã dermos a liberdade para todos os escravos de Forsvik, pela simples razão de que não queremos ter a propriedade de ninguém, o que acontecerá então?
Cecília não tinha nenhuma resposta para essa questão. E ficou por momentos com a mão no queixo, pensando profundamente. Para ela, o mais fácil seria dizer que se renuncia ao pecado. O mais difícil porém, é arranjar as coisas depois da confusão estabelecida.
— Salário — disse Arn, finalmente. — Vamos libertá-los, digamos, no meio do inverno, de forma que o frio os leve a pensar com calma e não a ir embora, a correr para todos os lados com a sua liberdade. Depois, a gente passa a pagar salário. A cada final de ano, todos os escravos, homens e mulheres, acho eu, vão receber determinado valor em prata. Uma outra maneira de resolver o problema que a minha abençoada mãe Sigrid usava era deixar cada escravo libertado na preparação e exploração de novas terras pagando a ele, anualmente, uma taxa de arrendamento. A minha proposta é a de tentarmos os dois caminhos.
— Mas tantos salários representarão muitas despesas para nós em prata pura — suspirou Cecília. — E eu que começava a ver as contas ficarem melhores para nós.
— Aquele que dá esmola aos pobres faz um agrado a Deus, ainda que a sua bolsa fique mais leve — disse Arn, refletindo. — Isso é justo
e você e eu queremos viver com justiça. Já isso é uma razão suficiente. » Uma outra razão é a de que os libertados que a minha mãe liberou de Arnäs passaram a trabalhar muito mais. Sem que isso nos custasse em alimentos durante o inverno, eles acabaram aumentando a nossa riqueza. Pense nisso, que os libertados sempre trabalham mais do que os escravos, que é apenas um bom negócio libertá-los.
— Nesse caso, os nossos parentes e amigos, donos de escravos, não são apenas pecadores, mas, além disso, são de inteligência curta — riu Cecília. — Não será um pouco de arrogância da nossa parte pensar dessa maneira, meu querido Arn?
— É o que veremos — disse Arn. — Você e eu queremos, de qualquer forma, nos libertar de um pecado. Portanto, é o que faremos! Agora, se Deus nos vai abençoar por essa medida, nem devemos pensar nisso. E se nós considerarmos que isso nos vai custar em prata Paga, também é verdade que nós temos recursos suficientes. Vamos tentar!
— É claro. E vamos esperar até o meio do inverno, a fim de que não corram como galinhas loucas para todos os lados assim que
forem libertados! — sorriu Cecília, como se ela já estivesse observando diante de si todo o tumulto que se veria em Forsvik.
Em Bjälbo, Arn e Cecília não foram tão bem recebidos como esperavam. Ao entrar a cavalo e passar pelas tochas de fogo fora da igreja, eles foram recebidos pelo pessoal da casa que lhes indicou para alojamento um lugar numa casa de hóspedes como se eles a fossem compartilhar com os seus escudeiros. Na realidade, não estavam com um grande séquito. Tinham trazido apenas os garotos Sune e Sigfrid, que, eventualmente, se achavam desempenhando a função de seguranças do seu senhor e de sua esposa, mas que os outros apenas viam como garotos que eram.
Esta foi uma das poucas coisas que o próprio Birger Brosa comentou numa curta conversa com Arn. Que dificilmente se poderia esperar que um folkeano viajasse sem escudeiros, em especial porque os sverkerianos convidados para a festa poderiam ver nisso um insulto.
Frio no tom de voz e no aperto de mão foi o pai de Ingrid Ylva, Sune Sik, quando veio cumprimentar Arn. Disse apenas algumas poucas palavras, a respeito do sangue que existia entre eles só poder ser lavado depois do casamento.
O ambiente ruim que prevalecia no lugar de honra, onde o padrinho Birger Brosa ou a sua esposa, Brígida, nem tiveram a condescendência de trocar uma palavra amiga com Arn e Cecília, se espalhou pela sala. Como festa, esse encontro em Bjälbo jamais seria recordado como alegre.
Nas três noites, Arn e Cecília se retiraram o mais cedo possível, sem violar a honra dos donos da casa. Seu filho Magnus e a sua futura esposa, Ingrid Ylva, mal tiveram a oportunidade de falar com eles, já que as cadeiras dos noivos ficaram longe do lugar de honra.
E eles não ficaram nem uma hora a mais, além dos três dias que a tradição exigia.
Arn tampouco sentiu que a situação melhorou quando chegaram ao local da visita seguinte, em Ulfshem, na casa da grande amiga de Cecília, Ulvhilde Emundsdotter. O burgo estava situado num local muito bonito entre Bjälbo e Linkõping. Havia vinho para Arn e Cecília, já que ambos evitavam o mais possível a cerveja, e a carne era muito macia. Mas entre Arn e Ulvhilde havia uma sombra que não desaparecia, que todos viam, mas ninguém queria falar dela. E o marido de Ulvhilde, Jon, que gostava mais das leis do que da espada, tinha dificuldades em manter uma conversa interessante com Arn, já que achava, preconceituosamente, que Arn não entendia de nada a não ser de guerra. O tempo todo, Arn sentia que falavam com ele como se ele fosse retardado ou uma criança.
Jon também não se sentia menos incomodado pelo fato de seus jovens filhos, Birger e Emund, o tempo todo olharem para Arn com os olhos cheios de admiração.
Melhor ficou, de certa maneira, mas ainda assim não de todas as maneiras, quando Arn sugeriu que os jovens Sune e Sigfrid fossem junto com os filhos de Jon dar uma volta, em vez de serem obrigados a ficar sentados ali com os adultos. Obedientemente, os garotos saíram, mas dali a pouco já se ouvia o barulho das armas na praça, o que não surpreendeu Arn, mas irritou Jon.
Na segunda noite, que seria a última em Ulfshem, Arn e Cecília e Jon e Ulvhilde estavam sentados junto da lareira grande. Era como se as duas mulheres tivessem descoberto tarde demais que, enquanto elas tinham mil coisas para conversar, os seus homens pouco se divertiam na companhia um do outro. Também nessa noite a conversa ficou presa e se limitava apenas a assuntos aleatórios que não conduziam a nada agradável.
Arn sabia muito bem o que estava escondido por baixo desse entulho e no início da noite pensou que era melhor deixar tudo como estava. Mas quando a primeira hora do convívio se passou na mesma lengalenga, entrecortada por longos silêncios e sem uma única gargalhada, ele resolveu que isso era mais insuportável do que cortar um abscesso.
— Vamos então falar de uma coisa que está entre nós, atrapalhando, e que estamos fingindo que não existe — disse Arn no meio da conversa sobre o outono estar suave naquele ano e ter sido muito duro no ano anterior.
Primeiro, fez-se um silêncio total em que apenas o crepitar da lenha na lareira se ouvia.
— Você quer dizer meu pai, Emund Ulvbane — disse Ulvhilde, finalmente. — Sim, vamos falar dele. Melhor agora do que mais tarde. Eu era apenas uma criança quando ele foi traiçoeiramente assassinado e talvez aquilo que eu sei sobre o caso não seja toda a verdade. Cecília Rosa é a minha melhor amiga, você é o marido dela. E entre nós não devem existir mentiras. Conte-me como foi.
— O seu pai, Emund, era o melhor combatente do rei Sverker, e o mais fiel — começou Arn, com um profundo suspiro. — Dizia-se que nenhum homem podia enfrentá-lo. Na assembléia de todos os gotas, em Axevalla, ele insultou o meu pai Magnus a tal ponto que a honra exigia um duelo entre os dois ou entre ele e o filho do senhor, o que a lei permitia. Meu pai nunca foi um espadachim de verdade e teria uma morte certa nas mãos de Emund. Chamou o padre, confessou-se e se despediu dos mais próximos. Mas eu fui enfrentar Emund em substituição do meu pai. Estava apenas com dezessete anos de idade e não tinha a menor vontade de matar ninguém. Fiz todo o possível. Por duas vezes, ofereci a seu pai a oportunidade de se retirar da luta, no momento em que ele estava por baixo. De nada serviu. Por fim, achei que não tinha outra coisa a fazer senão feri-lo tão profundamente, de tal modo que ele tivesse que se render, ainda que com honra. Hoje, talvez eu pudesse fazer melhor, mas na época eu tinha apenas dezessete anos.
— Quer dizer que você não estava junto quando Knut Eriksson matou meu pai em Forsvik? — perguntou Ulvhilde, após um longo momento em silêncio.
— Não — respondeu Arn. — Meu irmão Eskil estava, mas ele teve apenas que regularizar o negócio, quando compramos Forsvik de seu pai. Assim que a compra ficou regularizada e legalizada através da posição do sigilo, Eskil voltou para casa em Arnäs. Knut ficou para trás, para se vingar.
— Do que é que ele tinha que se vingar do meu pai? — perguntou Ulvhilde, surpresa, como se nunca tivesse ouvido nada a respeito do assunto.
— Conta-se que foi Emund quem decapitou o pai de Knut, o Santo Erik — respondeu Arn. — Se foi ou não, não sei, mas Knut estava certo que foi. E da mesma forma que o pai dele foi decapitado, ele decapitou Emund.
— Que, então, já não podia se defender, visto que, por sua culpa, ele só tinha uma mão! — interrompeu Jon, como que defendendo Ulvhilde.
— Isso que você diz é verdade — respondeu Arn em voz baixa. — Mas quando se trata de vingança de sangue, no nosso país, já aprendi que faz pouca diferença ter uma ou duas mãos.
— Os casos de assassinato devem ser levados à assembléia e não a novos assassinatos! — reagiu Jon.
— Isso é o que a lei diz, talvez — concedeu Arn. — Mas quando se trata do assassinato de um rei, não é a lei que prevalece, mas o direito do mais forte. E você que é folkeano, assim como eu, sabe muito bem que assassinato jamais é caso para assembléia, certo?
— Mas esse direito é ilegal — reagiu Jon, excitado.
Ninguém discordou dele. Mas foi então que Ulvhilde, depois de ficar pensativa e em silêncio por algum tempo, se levantou e avançou, séria, na direção de Arn, pegou a mão dele, aquela que empunhava a espada, levou-a à boca e beijou-a três vezes. Segundo um velho costume, esse era o sinal de reconciliação.
A noite não ficou muito mais alegre do que estava. Nada de piadas, nem de muitas gargalhadas. Mas, no entanto, foi como se a atmosfera ficasse mais pura entre eles, tal qual como quando o sol volta a aparecer depois de uma tempestade de verão, em dia quente.
Com isso, a primeira visita de Arn a Ulfshem não terminou tão quanto começou. E a isca que ele sabia serem Sune e Sigfrid para
todos os garotos na sua idade também surtiu efeito. Depois dessa visita, Ulvhilde e Jon não tiveram mais descanso por parte do filho mais novo, Emund, que constante e incansavelmente falava em viajar para o antigo burgo do seu avô. Que ele não pretendia com isso fazer uma peregrinação às terras que tinham sido do avô estava claro como água. Ele tinha sido contaminado pelo sonho de ser cavaleiro. E, finalmente, acabou conseguindo a promessa de que poderia viajar quando fizesse treze anos de idade.
Na volta a Forsvik, Arn e Cecília verificaram que o burgo nada tinha sofrido na sua ausência de dez dias. O recém-comprado Gure encontrou muitas mãos entre os escravos para o ajudar a equipar os seus alojamentos, e nas forjas, nas oficinas de flechas, de cerâmica e de cobertores, o trabalho havia continuado em velocidade normal e sem problemas. Como eram quase todos estrangeiros os que trabalhavam nesses lugares e toda a colheita já tinha sido completada com exceção das beterrabas, sobraram muitos escravos para Gure colocar em ação. Gure foi uma grande aquisição para Forsvik e os outros passaram a obedecer ao menor sinal feito por ele.
Os irmãos Wachtian se revezaram em anotar todas as novas mercadorias que entraram, deixando as listas na sala de contas de Cecília, de modo que agora ela só teria que fazer os lançamentos nos livros. Os dois irmãos também fizeram questão de levar Arn e Cecília até a câmara do moinho para lhes mostrar uma nova ferramenta construída por eles.
Jacob foi quem primeiro pensou e a desenhou. E Marcus foi para a forja para transformar a idéia em ferro e aço.
A questão que há muito eles estavam tentando resolver era a de aplicar a força da água numa máquina de serrar.
Como a força era gerada por uma nora de alcatruzes e transmitida por eixos rotativos, apesar de muita paciência ainda não tinha sido possível transformar esse movimento rotativo em dois movimentos, um para a frente e outro para trás, tal como funcionava a serra manual. Mas então eles começaram a indagar se não seria melhor pensar na rotatividade dessa força, acabando por imaginar uma serra redonda. Tiveram vários insucessos, sem dúvida, com a serra rotativa. Verificou-se que à menor saída de prumo, à menor inclinação, a serra quebrava ou ficava muito quente quando se encostava o tronco de madeira para serrar. E quando, ao final, conseguiram uma serra redonda girando equilibradamente, sem inclinar-se, e conseguiram endurecer os dentes da serra de modo a enfrentarem o calor criado pelo forte movimento, surgiram novos problemas. Ficou claro que era impossível alimentar a serra diretamente com as mãos, visto que a força era grande demais. Construíram, então, uma espécie de trenó que corria em cima de uma calha ao longo do chão. Colocavam, então, o tronco de madeira em cima do trenó que corria contra a serra. Mas o chão era irregular demais e quando conseguiram ajeitar esse problema surgiram novas dificuldades.
Mas agora achavam que estavam prontos. Chamaram Gure e a sua equipe para ajudar e em pouco tempo serraram diante dos olhos de Arn, infantilmente maravilhados, um tronco de madeira em quatro tábuas planas, servindo para o tombadilho de qualquer barco.
Pavimento, explicaram eles, quando Cecília perguntou para que servia essa invenção que, sem dúvida, parecia muito bem pensada. Para assoalhar casas de pedra como em Arnäs, haviam pensado primeiro. Mas talvez também em Forsvik, embora os troncos de madeira utilizados até agora talvez não fossem os melhores. Mas isso era para decidir mais tarde. Para já, era preciso fazer um estoque de tábuas de madeira para secar durante o inverno e no próximo verão, para ver se essa não seria uma grande melhoria. O tempo utilizado no trabalho seria reduzido para uma décima parte, caso se comparasse a pavimentação com pedras cortadas e essa forma de pavimentar o chão com tábuas de madeira cortadas com a nova serra.
Além disso, essa foi apenas a primeira serra, que agora estava ligada ao eixo de moinho, junto com as mós para moer coisas grandes e pequenas. Quando se construir o canal, com a nova nora, poderemos usar serras redondas, grandes e pequenas. Poderemos poupar muito tempo de trabalho e serrar muito mais do que o necessário para uso próprio, achavam os dois irmãos.
Arn deu umas palmadas cordiais nas costas dos dois irmãos e disse que essas novas idéias e ferramentas valiam ouro para o burgo, mas também para aqueles que tiveram essas idéias e fizeram essas ferramentas.
Na semana seguinte, Arn dedicou-se, junto com Ali e Mansour, a treinar os garotos e os cavalos pelas manhãs, enquanto que as tardes eram dedicadas ao tiro ao arco e à arte da espada, primeiro algumas horas para si mesmo e depois com os seus três jovens companheiros de armas.
Ele próprio forjou o material para algumas espadas que depois mandou outros limar e limpar, de modo que pareciam quase como verdadeiras espadas, mas com as pontas redondas. Ainda que não fossem armas cortantes, davam a sensação aos garotos Sune, Sigfrid e Bengt de que eram armas de verdade. Arn foi por tentativas até chegar ao peso certo de cada espada para eles, conforme a força de cada um para empunhar a arma. Ele também mandou fazer coletes de segurança para cada um dos garotos, o que Cecília achou mais infantil do que útil, visto que ninguém iria imaginar que aqueles garotos tão jovens fossem entrar em alguma guerra.
Arn, um pouco ofendido, explicou que não era nisso que ele estava pensando, mas queria que eles se habituassem a se movimentar com aquelas vestes pesadas no corpo. Além disso, acrescentou ele depois daquela pergunta irritante dela, se eles crescessem e não pudessem usar mais aquelas vestes caríssimas, outros garotos viriam depois desses três que estavam aprendendo. Aqui, em Forsvik, dentro de algum tempo iriam existir equipamentos e armas de todos os tamanhos para garotos de treze anos para cima e até para homens.
Foi uma informação que deixou Cecília pensativa. Ela tinha dado como certo que Arn, por bondade ou por incapacidade em dizer não, tinha recebido esses garotos, menos por vontade própria e mais por efeito das suas insistentes orações. Como se ele apenas prestasse àqueles jovens um serviço de amigo.
Mas agora ela via filas de vestes de malha de aço e de espadas, assim como selas nas cocheiras, com um número por cima. Havia algo de ameaçador nessa imagem, mais por ela não entender direito o que estava vendo.
Arn não notou essa preocupação de Cecília, visto estar totalmente engajado em achar a maneira de treinar esses garotos com as armas. Já treinara muitos homens adultos, em especial, durante o seu tempo como comandante da fortaleza em Gaza. Mas eles não eram apenas adultos, eram homens que chegaram a Gaza, mandados por juntas de recepção dos templários em Roma ou Provence, Paris ou Inglaterra, que escolhiam os candidatos. Os que chegavam já se consideravam prontos. Evidentemente, isso acontecia muito raramente. E a grande maioria deles agia com as armas de tal maneira que, se ele os deixasse entrar em luta contra os cavaleiros sírios e egípcios, seriam logo mortos. Contra esses aprendizes, podia-se usar de uma certa dureza, quando eles tinham que aprender tudo desde o início para serem templários. Com garotos de treze anos, a dureza, em contrapartida, não era o melhor método. Isso ele teve de reconhecer logo das primeiras vezes que colocou as espadas de treino nas mãos dos três garotos. O seu primeiro erro foi deixar que treinassem uns contra os outros, quando receberam as suas vestes de aço. Eles se atacaram com dureza demais e de maneira selvagem, em especial Bengt Elinsson, que se bateu com uma fúria um pouco apavorante, não apenas pelo fato de Sune e Jigrrid terem ficado com manchas roxas nos braços e nas pernas, mas mais pelo ódio que Arn achou notar no fundo do peito da criança e que sempre se mostrava com maior facilidade quando ele empunhava uma arma. Mudou logo os treinos com a espada, em que os golpes eram contra um boneco de madeira em vez de contra a carne viva e as pernas. Levantou troncos de madeira e com a machadinha fez neles Muatro marcas para cabeça, braços, joelhos e pés. E então fez uma demonstração dos exercícios a realizar e apontou os lugares no próprio corpo onde poderia doer em função da prática demais dos exercícios prescritos. Os garotos voltaram aos exercícios. E Arn não se espantou ao ver que Bengt Elinsson era dos três aquele que simplesmente não ligou para os primeiros avisos de dor que o seu corpo lhe deu e continuou praticando os golpes até que as dores o obrigaram, contrariado a parar durante uma semana.
Evidentemente que, mais cedo ou mais tarde, eles voltariam a treinar uns contra os outros, mas nesse momento já Arn teria pensado em melhores defesas para a cabeça, as mãos e o rosto. As dores nos treinos eram boas, já que estimulavam o necessário respeito pela espada do adversário. Mas dores maiores e feridas em demasia em aprendizes tão jovens acabariam provocando o medo neles. Talvez a situação melhorasse assim que o irmão Guilbert voltasse para Forsvik para passar o inverno, consolou-se Arn. Afinal, o irmão Guilbert foi quem, realmente, ensinou tudo a Arn e fez dele um cavaleiro. E essa capacidade de saber ensinar era agora de mais valia para Forsvik.
Ao pensar no irmão Guilbert, Arn se entristeceu. Há três meses que ele tinha deixado o irmão Guilbert trabalhando duro com as pedras, junto com os pedreiros sarracenos, em Arnäs, sem nunca mais os ter visitado e sem mandar para eles ao menos uma palavra de estímulo.
Arn se envergonhou diante da repentina idéia e, de imediato, montou em Abu Anaza e partiu em linha reta, por florestas e prados, para chegar a Arnäs no mesmo dia em que deixou Forsvik.
Seus irmãos sarracenos estavam trabalhando na pedra perto de Arnäs, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver como as roupas deles estavam em pedaços e o suor brilhava em seus braços e rostos. Também o hábito do irmão Guilbert estava muito rasgado pelas pontas afiadas das muitas pedras e endurecido em alguns lugares pela argamassa respingada, de tal forma que ele mais parecia um escravo do que um monge.
Por muito que Arn se envergonhasse da sua inconcebível distração, não pôde deixar de dar uma volta a cavalo pelos muros para ver o que tinha acontecido. E aquilo que viu correspondia pedra por pedra e linha por linha a tudo o que tinha pensado nas suas melhores estimativas e fantasias ou, até mesmo, as tinha ultrapassado.
A parte mais curta dos muros que davam para o lago Vänern e o cais do porto já estava pronta, com ambos os cantos defendidos por torres redondas e suspensas do lado de fora. Por cima da abertura ainda vazia do portão que dava para o porto, havia uma torre quadrada e o muro maior e mais longo, de oeste para leste, já tinha crescido uns vinte lances de escada. Um trabalho desses em apenas alguns meses e com tão poucas mãos a trabalhar teria espantado e subjugado até o próprio Saladino, pensou Arn. Na realidade, aquele era mesmo o começo de uma fortaleza absolutamente inconquistável.
Arn foi sacudido dos seus sonhos para a lembrança da sua dolorida consciência ao ser descoberto pelos pedreiros construtores. Foi então ao encontro deles, chamou-os com ambas as mãos, desceu do cavalo e se ajoelhou diante eles. Todos se calaram, espantados.
— Meus irmãos crentes! — disse ele, ao se levantar, fazendo uma vênia. — Grande é o trabalho que vocês têm feito até aqui e grande, também, é a minha dívida para com vocês. E grande ainda é o meu descuido em os ter deixado aqui como se fossem escravos. Mas saibam ao menos que também tenho trabalhado muito duramente para que todos vocês possam agüentar e sobreviver ao duro inverno nórdico. Eu os convido agora a encerrar os trabalhos pelo inverno e daqui a dois dias partiremos todos, quando vocês ficarem prontos. Vamos todos descansar e deixar passar o inverno. O mês de Ramadã está quase terminado e a festa final vamos realizá-la juntos e prometo que não será ruim. Mais uma coisa. Vim procurar vocês, pedreiros construtores, antes mesmo de me encontrar com os meus parentes em Arnäs!
Ao dizer isto, os sarracenos ficaram quietos e em silêncio, mais espantados do que satisfeitos por verem que o trabalho duro tinha chegado a um fim repentino. Arn avançou, então, na direção do irmão Guilbert, a quem abraçou longamente sem dizer uma palavra sequer.
— Se você não me largar logo, meu querido irmão, a nossa figura vai ficar distorcida perante os olhos desses que você chama de crentes — resmungou o irmão Guilbert, ao final.
— Me desculpe, irmão — disse Arn. — Posso dizer apenas como eu disse para os sarracenos que eu próprio trabalhei muito para preparar um bom inverno para nós. É lamentável ver o que vocês têm sofrido por aqui.
— Por coisas piores do que construir muros de pedra em temperaturas amenas, certamente, todos nós já passamos — murmurou o irmão Guilbert que não estava habituado a ver esse Arn adulto de coração tão apertado.
— Talvez a gente possa partir amanhã — disse Arn, de rosto iluminado pela idéia. — O que precisa ser feito para segurar o muro durante o inverno?
— Não muita coisa — respondeu o irmão Guilbert. — Nós tentamos construir os muros pensando no inverno. Ou, melhor dizendo, eu pensei. Esses amigos nossos ainda não sabem o que o frio, a neve e o gelo podem fazer a uma construção. Temos sido muito cuidadosos com a cobertura dos muros, fechando todas as juntas, mas ainda tem muita argamassa úmida.
— E se a gente cobrir os muros com peles? — sugeriu Arn.
— Seria melhor — comentou o irmão Guilbert. — Você acha que podemos contar com chumbo na primavera?
— Chumbo? — inquiriu Arn. — Sim, mas não em grandes quantidades. Para que você quer o chumbo?
— Para fechar bem as juntas do cimo dos muros — respondeu o irmão Guilbert, com uma profunda inspiração. — Pensei em despejar chumbo derretido em cima das brechas nas pedras viradas direto para o céu. Você sabe do que estou falando?
— Sim — anuiu Arn, lentamente. — Se a gente botar chumbo nas brechas, a água não passa para baixo... Nem vai virar gelo. É uma boa idéia. Vou tentar arranjar o chumbo necessário. Mas, diga-me, você está bem, o seu corpo não dói mais do que deve depois do trabalho e você me perdoa por tê-lo deixado aqui desse jeito?
— Vou esperar até ver o meu alojamento para o inverno e comer o meu primeiro presunto, já que aqui, durante o Ramadã, não houve nada disso — riu o irmão Guilbert, voltando a sacudir Arn, tal como ele tinha por costume fazer quando ainda era um mero aprendiz em Varnhem.
— O Ramadã não valia para você! — disse Arn, firmando e concentrando a vista. — A não ser que você tenha...
— De jeito nenhum! — interrompeu o irmão Guilbert, antes que a pergunta se tornasse incômoda. — Mas se a gente tem de trabalhar com esses crentes, acho que é melhor jejuar com eles para evitar discussões!
— Nada de comida entre o nascer e o pôr-do-sol — disse Arn. — E trabalhando duro. Como é que se consegue?
— A gente fica gordo com toda a comida que come — murmurou o irmão Guilbert, como se estivesse mal-humorado. — E mijar é o que a gente mais faz nas primeiras horas de trabalho, depois de beber tanta água. Comer, a gente come como animais, logo que o sol se põe. A gente come durante horas e ainda bem que não se empurra para baixo toda essa carne de cordeiro com vinho.
Enquanto o irmão Guilbert levou consigo os construtores sarracenos para começar a desmontagem do seu acampamento, Arn montou a cavalo e foi para Arnäs onde logo encontrou quem procurava. Eskil estava sentado com seu filho Torgils na grande sala de contas da torre, e seu pai, Magnus, estava na sala mais alta da torre, junto com o seu médico, Yussuf. O reencontro dos dois foi muito animado e caloroso, ainda mais para Arn, já que todos os seus parentes mais próximos começaram a falar ao mesmo tempo, perguntando sobre a nova construção que eles queriam, de imediato, que fosse mostrada e explicada. Arn não se fez de rogado.
Eles tiveram de subir nos andaimes para chegar ao que estava sendo construído, já que os novos muros tinham quase o dobro da altura dos antigos. Lá em cima, puderam andar um pouco pela passarela de tiro com as suas seteiras, largas por dentro, mas com uma pequena abertura por fora. O motivo disso todos puderam entender mesmo sem a explicação de Arn. Visto do lado de dentro, essa seteira permitia olhar em todas as direções e apontar o arco e flecha e as bestas, enquanto que aqueles que estavam do lado de fora, para lá do fosso, tinham todas as dificuldades em acertar na fenda estreita.
O resto exigia explicações de Arn. A torre por cima do grande portão, do lado do mar, se prolongava para fora do muro, isso para permitir que se atirasse lateralmente, ao longo dos dois lados do muro contra os inimigos que, eventualmente, tentassem levantar as escadas de assalto.
Mas seria difícil também levantar essas escadas contra a torre sobre o portão, visto que os muros eram construídos com o dobro da grossura, tanto para baixo como para cima, até a passarela de tiro. Essa inclinação para cima e para baixo fora construída por duas razões, explicou Arn. Se alguém se lembrasse de levantar escadas de assalto naquele lugar, teriam de ser escadas muito longas e bem sustentadas, caso contrário se partiriam ao meio, quando os assaltantes começassem a subir por elas. E quanto mais pesadas as escadas, mais difícil era colocá-las no lugar, de maneira rápida e de surpresa.
A segunda razão para essas muradas inclinadas do lado do mar, no porto, estava na possibilidade de o inimigo se aproveitar do suporte mais plano formado pelo gelo do lago no inverno. Se tentasse avançar com suas máquinas de rachar muros, teria de levantá-las no alto, construindo um grande balanço em que o rachador de muros funcionasse para a frente e para trás. Isso porque, se ele fizesse bater o rachador na base do muro inclinado, o resultado não valeria a pena. Mas montar andaimes para o rachador bater no meio do muro não era coisa fácil, visto que esse trabalho jamais poderia acontecer sem ser combatido pelos sitiados, a partir do alto do muro e da torre sobre o portão.
O portão de entrada do lado do mar estava situado bem alto, a meio da torre, de forma que houvesse necessidade de uma pequena ponte inclinada para entrar e sair. Aqui, Arn mostrou como o portão iria ser construído, primeiro, com uma treliça basculante de ferro que podia ser baixada a partir de um mecanismo pelo lado de dentro da torre. Isso podia ser feito em apenas alguns momentos, em caso de ataque rápido e de surpresa. Depois, seria levantada a ponte levadiça em madeira de carvalho que encostava na treliça de ferro. Os portões eram sempre o ponto fraco das fortalezas e, por isso, esse portão era construído bem alto em relação ao chão do lado de fora para que fosse difícil conseguir atingi-lo com as máquinas rachadoras de muros e quaisquer outras ferramentas. Em especial porque, fazendo um ataque, os assaltantes estariam o tempo todo sob os tiros de flechas disparados das duas torres dos dois cantos e receberiam sobre si toda a sorte de coisas jogadas pela torre, por cima do portão.
Por enquanto, só era possível andar uma pequena distância a partir das duas torres dos cantos, na direção em que o muro iria continuar. Mas estando lá em cima e olhando ao longo da linha em que a construção seria feita, era fácil entender em como iria ficar quando pronta. Uma fortaleza mais poderosa do que aquela não haveria em todo o reino.
Arn pediu para usar todas as peles que houvesse já prontas para cobrir a coroa dos muros e as seteiras durante o inverno, e tanto o seu pai, Magnus, quanto o irmão Eskil responderam, concordando e acrescentando, quase temerariamente, que tudo o que ele quisesse e estivesse ao alcance deles ou na sua posse, estaria à disposição imediata de Arn. Isso porque os dois tinham entendido, agora, sem dúvida, que com essa construção estavam entrando numa nova era, uma era em que o poder dos folkeanos ficaria maior. No meio dessa alegre e estimulante conversa, calhou o senhor Magnus de mencionar que Birger Brosa viria em breve a Arnäs para uma reunião formal da família.
Logo houve um rápido abatimento geral, visto que Birger Brosa fizera uma recomendação especial, dizendo que a presença de Arn Magnusson não era necessária nessa reunião, já que tanto o seu pai quanto o seu irmão estariam presentes, podendo responder por ele. Não havia muita coisa a fazer. Birger Brosa era o líder dos folkeanos e o conde-ministro do reino. Uma recomendação dele era uma ordem.
No banquete da noite, porém, não houve decepção alguma. Havia muitas coisas para contar a respeito da construção em Arnäs e do que Arn estava fazendo em Forsvik. Tanto Eskil quanto o senhor Magnus, a essa altura, já tinham entendido que Forsvik estava a caminho de se transformar na segunda coluna na construção do poder folkeano.
Ainda não tinham falado muito em relação a planos futuros quando o jovem Torgils relembrou a promessa de que lhe seria permitido ir aprender em Forsvik. Arn reagiu, dizendo que, por seu lado, Torgils seria bem-vindo quando quisesse. Torgils respondeu que gostaria de viajar imediatamente. Eskil encolheu-se o quanto pôde, mas não pôde negar.
Antes de Arn e seus acompanhantes subirem para o barco que os levaria pelo lago Vänern até o lugar de troca de cargas para as barcaças fluviais, ele teve uma conversa curta com o médico, Yussuf, e decidiu depois que até Yussuf devia seguir com todos os sarracenos para Forsvik, para onde Ibrahim já tinha viajado com os primeiros estrangeiros. Isso porque, deixado sozinho no inverno e no Natal onde apenas se come e bebe, essa seria uma recompensa ruim para um muçulmano isolado e só, achou Arn, embora nada dizendo em voz alta a esse respeito. Entretanto, o seu pai já estava em boas condições, a ponto de não precisar mais de assistência diária. Em compensação, Arn não se eximiu a chamar o seu pai de lado e, respeitosamente, mas com decisão, repetir tudo aquilo que Yussuf lhe tinha recomendado. Todos os dias o pai Magnus tinha que se movimentar, nem muito de mais, nem muito de menos, mas todos os dias. Além disso, devia diminuir a quantidade ingerida de carne de porco, dando preferência a salmão e vitela, veado e cordeiro. E bebendo vinho em vez de cerveja durante os festejos natalinos que estavam para acontecer.
O senhor Magnus murmurou que isso ele já podia imaginar. Era lamentável, mas bem conhecido que todos os homens na sua idade viviam em perigo ao beber a cerveja natalina.
Durante os dias em que Arn esteve em Arnäs, Cecília começou a estranhar cada vez mais os estrangeiros em Forsvik. À noite, faziam muito barulho na casa-grande onde ficavam e, a julgar pelo cheiro de frituras e pelas fornadas de pão produzidas, qualquer um poderia chegar à conclusão de que havia festa todas as noites lá dentro. Eles desdenhavam do pão que existia em Forsvik, produzido na fornada do outono, e haviam construído os seus próprios fornos de argila, que se pareciam com grandes ninhos de maribondos, virados de cima para baixo, onde assavam o seu próprio pão em grandes rodelas finas. Depois, eles se levantavam de manhã e, lentamente, voltavam para o trabalho.
Cecília podia apenas adivinhar o que isso significava. Ela se inclinava mais para acreditar que era a ausência de Arn que provocava o relaxamento desses estrangeiros. Embora, evidentemente, não para todos. Os irmãos Marcus e Jacob trabalhavam do mesmo jeito, eficientes e operosos como sempre, assim como os dois ingleses, produtores de flechas, John e Athelsten. Há muito que ela pretendia perguntar a Arn a respeito de uma coisa e outra que ela não conseguia entender direito. Mas nas longas noites de inverno, em que os ventos do norte assobiariam lá fora e eles se deitariam juntinhos diante da lareira, ele contaria então sobre tudo o que de maravilhoso e de horroroso tinha acontecido na Terra Santa, e daria respostas para todas as perguntas difíceis que lhe fossem feitas. Essas noites já estavam longe, em mais de um sentido.
Desde aquela vez em que saíram sozinhos, montados nos seus cavalos, e Nossa Senhora, suavemente, mostrara a eles os direitos agradáveis dos dois, uma vez usados em falso, mas agora acontecendo e transformando suas noites em doce ventura. De tal maneira que Cecília corava só de pensar no assunto. E o pior era que deixou de haver tempo para aquelas muitas conversas a respeito de grandes coisas. Não houve mais ambiente para essas conversas no seu quarto de dormir.
Ao voltar para casa pelo rio, Arn não trouxe apenas o jovem Torgils em sua companhia, mas também mais estrangeiros, todos os pedreiros que estavam em Arnäs. Eles estavam num estado deplorável, com as roupas do corpo rasgadas, enquanto as roupas boas e finas continuavam acomodadas em grandes trouxas. Tinham levantado acampamento em Arnäs e vinham passar o inverno em Forsvik. Cecília ficou um pouco irritada pelo fato de não ter sabido com antecipação, pois achava que, sendo homens livres, deviam ser tratados como visitantes convidados. Mas quase zangada ficou ao ver que todos começaram a rir e a abanar a cabeça, rejeitando as tentativas dela em desejar-lhes as boas-vindas com sal, cerveja e pão. Certamente, não era tradição na Götaland Ocidental rejeitar tais saudações.
Ainda mais embaraçada ficou, na primeira noite, depois dos novos estrangeiros terem chegado, ao ouvir que o barulho na casa-grande deles foi maior do que nunca. Arn respondeu à sua pergunta em poucas palavras, dizendo que era uma festa denominada Laylat al-Qadr, o que significava noite de força. E então ela perguntou, inocentemente, que força era essa, e ficou gelada por dentro ao saber pela resposta que se tratava de festejar a primeira revelação de Maomé.
Maomé! Esse diabo em forma de homem que se assumiu como deus, esse infiel que fez sofrer tantos cristãos que foram para a Terra Santa, a fim de lutar contra esses diabos com a forma de gente, esses monstros corneados!
Mas Arn parecia nem ter notado que ela ficou petrificada por alguns momentos, ao ver que ele, já sonolento, quase roncando, demonstrava maior interesse pelos prazeres do amor carnal do que por qualquer outra coisa. E como ele já estava em uma condição tal que tudo se notava, ela, ainda que quisesse, não podia levantar-se da cama, bater o pé e dizer que queria falar de Maomé. Em vez disso, ela logo flutuava na sua corrente quente e esquecia todo o resto.
Mas dois ou três dias mais tarde, ele pediu-lhe para, naquela noite, vestir a sua melhor roupa, pois iriam a uma festa. Ela perguntou aonde iam, mas na resposta ele disse que não era longe, que até podiam ir a pé nas suas roupas de festa. Quando ela, cautelosamente, inquiriu se não se tratava de uma brincadeira, ele apontou para as suas próprias roupas, já estendidas em cima da cama, com o manto azul do casamento por baixo.
Pouco antes de o sol se pôr, chegaram os irmãos Marcus e Jacob Wachtian em roupagem de festa, junto com o irmão Guilbert, de túnica branca cisterciense bem limpa. Vinham buscar Arn e a sua esposa para a festa. Lá fora, na praça, já se sentia o odor do cordeiro assado misturado com o de condimentos estranhos.
Cecília nunca mais tinha estado na casa-grande dos visitantes desde aquela vez que Arn a mostrou para ela. Mas foi para lá que todos se encaminharam e, quando entrou, ela mal reconheceu o lugar. Tinham chegado mais tapetes, de muitas cores, e nas paredes estavam penduradas tapeçarias com as mais fantasiosas padronagens de estrelas. No chão, em volta, havia um quadrado de banquetas e, atrás das banquetas, montes de colchões de plumas e de almofadas. Do teto, pendiam lampiões de cobre e de ferro, com vidros coloridos, e, na lareira, bastante longa, tinham instalado grelhas, onde foram colocadas trutas do Vättern para assar.
O médico Ibrahim, que vestia uma túnica longa de um tecido brilhante e usava turbante, recebeu os convidados na porta e os conduziu aos lugares de honra no meio da fila de almofadas e banquetas mais próximas do ocidente.
Jarros de cobre artisticamente fundidos foram trazidos junto com copos feitos na própria vidraria e alinhados nas banquetas. Cecília quase esteve para se sentar numa delas, mas Arn mostrou para ela, rindo, que era para se sentar de joelhos entre as almofadas, por trás da longa banqueta de madeira e segredou para ela não tocar na comida ou na bebida antes de alguém fazê-lo.
Estava se esperando o pôr-do-sol e, enquanto isso, os estrangeiros tomaram os seus lugares, com a exceção de alguns, ocupados em assar os peixes, e o velho Ibrahim, que saiu para o burgo.
Para sua irritação, Cecília verificou que nem o irmão Guilbert nem os irmãos Wachtian ou Arn pareciam incomodados com essas tradições e aromas estranhos. Eles falavam e contavam piadas entre si naquela língua que Cecília agora sabia reconhecer como sendo o francês.
Arn percebeu rápido a insatisfação de Cecília, se desculpou perante os outros homens e se virou para ela, a fim de dar explicações.
Era uma noite clara, de céu estrelado, uma das primeiras noites de geada desse outono suave. E lá fora na praça estava agora o médico
Ibrahim para observar a fundo o céu a noroeste. Quando escurecesse ele iria descobrir logo a estreita lua crescente que anunciava um novo mês e então começaria o banquete de nome Id al-Fitr, com que se festejava o final do mês do jejum.
Cecília pensou primeiro em objetar, dizendo que o mês de jejum não podia ser em outubro e, sim, na primavera. Mas conteve-se, ao reconhecer que não era a hora de falar sobre religião.
Ibrahim voltou da praça, anunciou qualquer coisa na sua estranha e incompreensível língua, que parecia vir mais da garganta do que da língua, e logo todos na sala fizeram uma prece curta. Arn apanhou, então, o jarro de cobre e latão diante de si na mesa e um copo que ele encheu e deu para Cecília, antes de o oferecer para o irmão Guilbert e para os irmãos Wachtian. Do mesmo modo agiram depois todos os outros em todas as banquetas e, então, todos levantaram seus copos, beberam tudo e encheram-nos de novo. Cecília, que foi mais lenta e cuidadosa ao levar à boca o seu copo, acabou tossindo sem más intenções ao notar que era apenas água e não vinho branco como tinha pensado.
A comida consistiu em cordeiro no espeto, pato e truta, além de outros pratos menores que Cecília não conhecia e que eram trazidos em bandejas de madeira. Tocaram-se instrumentos estranhos e alguém puxou uma canção que, depois, os outros acompanharam.
Arn partiu um pedaço daquele pão achatado e macio e mostrou para Cecília como ela devia ensopar o pão no molho da carne de cordeiro e quando ela fez isso, a sua boca encheu-se de sabores estranhos de condimentos diferentes que, primeiro, fizeram com que ela hesitasse, depois que ela achasse perfeitamente aceitáveis e, logo em seguida, após mais alguns momentos, que fossem absolutamente deliciosos. A carne de cordeiro era a mais macia que ela comera e a truta tinha um sabor completamente diferente, com um condimento que fazia lembrar o cominho.
Arn se divertia ao recolher, de vez em quando, de cada travessa, um pouco de comida para dar na boca de Cecília como se ela fosse uma criança, e quando ela, embaraçada, tentou evitar a comida, riu e disse que era apenas uma maneira respeitável de demonstrar apreço para sua esposa ou amiga próxima.
A princípio, todos comeram sofregamente e rápido entre os estrangeiros. Mas quando pareceram ter aquietado a pior fome, a maioria se recostou nas almofadas, comendo mais lentamente e se deleitando, com os olhos meio fechados, com a música, estranha e melancólica, apresentada por dois homens com instrumentos de corda que faziam lembrar os alaúdes que os artistas francos tocaram no casamento em Arnäs.
Demorou ainda bastante antes de Cecília também se recostar nas confortáveis almofadas que vários homens solícitos e respeitosos vieram colocar atrás dela. Ela já não estava mais tão tensa, comia devagar de todas as guloseimas e levantou apenas uma vez a sobrancelha ao descobrir o quanto de mel da casa se tinha gasto com os doces para comer depois da carne e do peixe, pãezinhos com cenouras cortadas e avelãs, submersas em mel. Havia qualquer coisa de dormência nesses aromas e sabores estranhos que cada vez mais a tranqüilizavam e que a fizeram até começar a gostar da estranha música, embora ela a tivesse achado falsa no início. Ela começou a sonhar com países estranhos. A diferença entre esse banquete daqueles a que ela estava habituada era principalmente a quietude cada vez maior à medida que o tempo passava, assim como as canções dos homens com os instrumentos de cordas pareciam ficar cada vez mais tristes e cheias de saudades. Ninguém começou a brigar nem a vomitar. Sonolenta, ela começou a ruminar sobre esses hábitos estranhos até que reconheceu ser água e não cerveja ou vinho aquilo que beberam. Já estava sonhando novamente nesse mundo estranho quando Arn pegou-a pelo braço e lhe murmurou no ouvido que era de boa tradição os convidados de honra serem os primeiros a abandonar as festas e não os últimos.
Arn desceu com ela na direção da saída, passando pelo lavatório, levando-a pela mão, e antes disse qualquer coisa na língua deles que fez com que todos os homens se levantassem e fizessem uma vênia muito profunda como resposta.
O frio da geada bateu nela lá fora na praça, de tal maneira que ela acordou de novo. Parecia que o encantamento havia desaparecido. E pensou que aquela noite seria a primeira de todas as noites de inverno em que Arn iria contar tudo sobre o que lhe era estranho.
Assim que ele reavivou o fogo na lareira e os dois se enfiaram na enorme cama, ela resolveu mudar a posição das almofadas e os dois ficaram sentados na cama, olhando a dança das chamas do fogo. Pediu a ele para começar a contar suas histórias e, em primeiro lugar, queria saber como era possível eleger os piores inimigos da cristandade como convidados numa casa cristã.
Arn respondeu um pouco contrariado que aqueles muçulmanos, como eram chamados os seguidores do Profeta, tinham trabalhado para os cristãos na Terra Santa e que, por isso, teriam sido mortos pelos seus próprios comparsas, se não tivessem podido fugir com ele para a Escandinávia. O mesmo aconteceu com os irmãos Wachtian, que eram cristãos da Terra Santa. Tinham tido as suas oficinas e lojas na Al Hammediyah, que era a maior rua de negócios em Damasco. Portanto, a questão de saber quem era amigo ou inimigo na Terra Santa não se decidia apenas pela fé de cada um.
Cecília achou isso incompreensível, numa objeção cautelosa.
Mas, então, ele começou a contar a sua história que iria ocupar muitas daquelas noites de inverno.
Na Terra Santa, existiam grandes homens que se elevavam acima de todos os outros. Arn pensava, especialmente, em dois deles, um era cristão e chamava-se Raymond av Tripoli e a seu respeito ele iria contar mais numa outra noite. Mas o outro era melhor para começar, visto que era muçulmano e se chamava Yussuf Ibn Ayyub Salah ad-Din, embora os cristãos para simplificar o chamassem de Saladino.
Quando o nome do pior inimigo da cristandade foi mencionado, Cecília, inconscientemente, suspendeu a respiração. Ela ouvira tau maldições sobre esse nome, ditas por freiras e padres.
No entanto, Saladino era seu amigo, continuou Arn, sem se importar com a respiração alterada de Cecília. E essa sua amizade teve uma seqüência através dos tempos que nem mesmo o mais ateu dos indivíduos poderia deixar de notar a interferência de Deus.
Tudo começou no dia em que Arn salvara a vida de Saladino, sem ter essa intenção, o que, pensando bem, não podia ter acontecido sem a interferência de Deus. Como é que, de outra forma, um dos templários, os lutadores mais dedicados a Deus e defensores do Seu Santo Sepulcro, poderia se tornar salvador do homem que, no final, iria acabar derrotando os cristãos?
Depois disso, eles se reencontraram como inimigos no campo de batalha e Arn venceu. Mas dali a pouco tempo a vida de Arn ficou nas mãos de Saladino, quando este voltou com um imbatível exército para atacar a fortaleza de Gaza, onde Arn era o comandante entre os templários. Saladino salvou, então, por sua vez, a vida de Arn.
E daí em diante ele contou uma longa história de muitas horas naquela noite, a respeito de homens nobres e de autênticos canalhas, do enorme deserto e de cavaleiros misteriosos que existiam por lá, de uma espada mágica que não significava nada para os cristãos, mas para os infiéis, tanto quanto a Sagrada Cruz, e de como a Sagrada Cruz ficou perdida para os cristãos, graças em partes iguais à loucura e aos grandes pecados dos próprios cristãos. E de como Saladino acabou derrotando os cristãos perto da cidade de Tiberíades e de como Arn acabou se encontrando entre os vencidos e acordando numa fila de prisioneiros que seriam decapitados e na qual os carrascos estavam cada vez mais próximos, a ponto de ele ver as cabeças dos seus irmãos caírem a seu lado, uma a uma.
E no momento de fazer a sua última oração em vida, do que estava absolutamente convencido, pensando e pedindo por Cecília e pela criança que não pudera conhecer, solicitando a proteção de Nossa Senhora para ambos — nesse momento, enfim, ele se preparou para subir ao Paraíso.
Mas Saladino, mais uma vez, poupou a sua vida por amizade, e assim que ele se tornou prisioneiro, intérprete e negociador de Paladino.
Foi nos últimos tempos na Terra Santa, quando Jerusalém já tinha sido perdida, assim como a maioria das cidades cristãs, e em que Arn além de ser prisioneiro de Saladino, era seu intérprete, enviado especial e negociador, que um dos piores canalhas que apareceram na região chegou com um exército para se defrontar com Saladino em campo aberto e retomar Jerusalém, a Cidade Santa. Esse homem, cujo nome era Ricardo Coração de Leão, um nome que viveria em eterna desgraça, se divertiu em decapitar três mil prisioneiros, antes de receber a última parcela do resgate pedido e negociado por ele, e antes de receber de volta a Santa Cruz para a cristandade.
Foi nesse momento lamentável que Arn e Saladino se separaram para sempre e foi, então, que Arn recebeu como presente de despedida os cinqüenta mil besantes de ouro que Ricardo rejeitou para saciar a sua sede de sangue.
Em função disso, Arn podia agora custear a construção de Arnäs e da nova igreja em Forshem, além da reconstrução de Forsvik.
E isso era apenas a história resumida. Muitas outras noites de inverno seriam necessárias para contar tudo com mais detalhes. E talvez o resto da vida para entender o significado por trás de tudo o que acontecera.
Então ele se levantou para jogar mais lenha no fogo e descobriu que Cecília tinha adormecido.
DE MAUS PRESSENTIMENTOS, Arn cavalgava na frente do séquito do noivo, entrando em Linkõping. Da fortaleza do bispo até a catedral, flutuavam três bandeiras vermelhas sverkerianas, como se fosse um escárnio contra os visitantes, e entre os grupos de espectadores de olhar feroz apareciam apenas mantos vermelhos e nenhum azul. Nem um único ramo de freixo de bom augúrio foi lançado para o noivo.
Era como avançar para uma emboscada. Se Sune Sik e seus parentes e amigos quisessem transformar esse casamento em vingança sangüinária, eles matariam todos os líderes folkeanos, com exceção do velho senhor Magnus de Arnäs, que se absteve de fazer essa viagem no frio do outono por motivos de saúde.
Ao se aproximar da catedral, ouviram ao longe as vozes de comando do séquito da noiva, com Birger Brosa como padrinho, e, ao que parecia, com uma recepção mais amistosa.
Até Erik, o conde, estava no séquito do noivo, ao lado do seu amigo Magnus Mâneskõld que tinha a sua mãe Cecília do outro lado, e o seu tio, o conselheiro da corte, Eskil, atrás de si. Todo o poder folkeano e o filho mais velho do rei Knut estavam, portanto, colocando as suas vidas em jogo. Se os sverkerianos quisessem, realmente, tomar de volta a coroa do reino, esse era o momento.
Mas os folkeanos não chegaram despreparados como cordeiros a caminho do matadouro até a cidade do inimigo. De Bjälbo, vieram cem escudeiros e parentes, todos armados. Eles tiraram a sorte, de todo que metade deles teve de jurar não beber um único caneco de cerveja no primeiro dia. Os que tiraram a sorte, por sua vez, tiveram de jurar manter essa mesma abstinência durante o segundo dia. Por surpresa ou incêndio, os folkeanos não se deixariam matar.
A maior preocupação de Arn era Cecília. Ele próprio facilmente poderia passar cavalgando por grupos nórdicos de soldados camponeses ou avançar, se debatendo, contra as linhas de escudeiros. Mas a questão que ele nem sequer ousava admitir era saber se a sua principal obrigação seria a de ficar ao lado de Cecília ou salvar-se para que os folkeanos não perdessem todos os defensores e vingadores na guerra que se seguiria.
Quando a primeira flecha fosse disparada, era obrigação de Arn: salvar. Isso era exigido pela sua fidelidade aos folkeanos em geralj Ninguém melhor do que ele podia liderar o exército dos vingadores até a vitória, e isso ele não tinha qualquer possibilidade de negar, nem! perante a sua consciência, nem perante mais ninguém.
No entanto, ele decidiu ir contra as leis da honra, caso acontecesse o pior. Não poderia deixar Linkõping vivo sem levar Cecília consigo. Ela estava montando um bom cavalo e com um novo vestido que lhe permitia sentar-se com as pernas bem apoiadas em ambos os estribos. E era uma boa cavaleira. Um único lampejo de arma de qualquer lado e ele estaria a seu lado, pronto para abrir caminho para ela.
Esses eram os pensamentos de Arn até a catedral onde o séquito da noiva estava chegando do outro lado, pensamentos que tornavam o seu rosto sério e triste, mais do que se poderia esperar do pai do noivo. O povo ficava falando e apontando para ele e ele suspeitava que estivessem dizendo que ele era entre os de mantos azuis aquele que devia cair primeiro.
Junto da catedral, desceram do cavalo. Os cocheiros vieram correndo para segurar os animais. Desconfiado, Arn ficou olhando em volta e para o topo do muro da fortaleza do bispo, ao mesmo tempo que se dirigiu para Magnus que estava de ressaca depois da despedida de solteiro que tinha sido quase tão boa quanto a de Arnäs. Até mesmo melhor, segundo Magnus, visto que, desta vez, não precisou lutar contra velhinhos e monges e, assim, acabou ganhando a coroa da vitória nessa sua última competição como solteiro, vitória que lhe tinha sido negada em Arnäs.
O presente para a noiva era um colar de ouro com pedras vermelhas. Erik, o conde, levou-o para a frente, Arn recebeu-o e o entregou ao seu filho, Magnus, que o colocou no pescoço de Ingrid Ylva, sobre o manto vermelho.
Sune Sik trouxe então o presente para o noivo, uma espada francesa com bainha revestida de ouro e prata e com o punho decorado com pedras preciosas. Justo o tipo de espada que ficava melhor levar para uma festa do que para uma batalha, pensou Arn em silêncio, enquanto Ingrid Ylva prendia a espada na cintura de Magnus.
O bispo abençoou os noivos, e tanto a noiva quanto o noivo beijaram o seu anel. Depois, todos os que conseguiram lugar entraram na catedral para a missa, que foi curta, já que os convidados queriam muito mais ir para o banquete do que para o céu. Durante a missa, muitos homens de mantos vermelhos ficaram olhando para Arn, de viés, por causa da espada que ele portava na cintura, enquanto todos os outros tiveram que deixar a sua na entrada.
Nada que cheirasse a perigo ou traição se notou no caminho entre o burgo do bispo e a catedral, nem também por cima da ponte até o burgo real de Stâng, onde seria servido o repasto para os convivas do casamento.
O burgo real era antigo e mal calafetado, mas era, sem dúvida, o lugar mais importante de Linkõping. Certamente, a residência de Sune Sik era melhor, mas certamente também, ele quis mostrar que, como anfitrião, usava o burgo real, já que era o irmão do rei. Em Linkõping, todos os sverkerianos consideravam o burgo real como sua propriedade.
Duas filas de troncos de madeira serviam de pilares para sustentação do teto no salão e todos tinham sido pintados de vermelho para esconder as imagens ímpias que, no entanto, transpareciam, já que estavam delineadas em baixo-relevo na própria madeira. Como por encanto, havia cruzes e imagens de Cristo suspensas entre os suportes de ferro para os archotes de piche ao longo das paredes.
Arn e Cecília já se preparavam para uma tarde tão triste e melancólica quanto aquela, ainda recente, que passaram em Bjälbo, mas assim que tomaram seus lugares, tanto Birger Brosa como o pai da noiva, Sune Sik, deixaram transparecer que tinham a intenção de fazer dessa tarde um momento agradável e popular até mesmo no lugar de honra. O que levou os dois a mudar de atitude não foi fácil saber. Cecília ainda tentou descobrir através da mulher de Sune Sik e mãe da noiva, Valevska, mas não conseguiu muita coisa. A mulher falava mais em polonês do que na língua nórdica.
Até o bispo, sentado bem longe de Arn e Cecília, do outro lado de Sune Sik, parecia querer demonstrar boa vontade e amizade, visto que, depois de brindar com Birger Brosa e Sune Sik, virou-se para eles e fez um brinde. Não havia vinho nessa festa, e a idéia de Arn e de Cecília de deixarem a cerveja intocada diante deles logo se transformou em desonra perante a inesperada amizade que baixou sobre eles, vinda de todos os lados.
Birger Brosa surpreendeu Arn mais de uma vez ao comentar com Sune Sik, bem alto para que Arn ouvisse, que ele era um parente muito próximo e um grande amigo.
Alguma coisa tinha acontecido para que tivesse havido mudança! de jogo, mas, no momento, restava apenas mostrar simpatia e esperar! outro dia para entender.
O acompanhamento até a cama realizou-se mais cedo do que o esperado, já que muita gente na sala queria esse ato feito logo para depois respirar à vontade. Assim que sverkerianos e folkeanos se ligassem pelo sangue através de Magnus e Ingrid Ylva, a oportunidade de incêndio, de traição e de assassinato estaria ultrapassada.
A cama onde se consumaria o casamento estava localizada numa casa lateral, perto de uma lagoa, a lagoa Stâng, que era guardada por escudeiros em quantidades iguais, de mantos azuis e mantos vermelhos. A única diferença estava apenas no fato de os azuis se manterem eretos sem dificuldade, já que nem uma gota de cerveja tinha passado pelos seus lábios.
Depois da roda de dança no salão, a noiva foi levada pelos seus parentes e amigos. Mas era como se o povo, inconscientemente, esperasse ouvir a batida de armas e gritos estridentes. No entanto, tudo continuava a decorrer na maior tranqüilidade.
Pouco depois, chegou a hora da decisão final, quando Magnus Mâneskõld e seus amigos folkeanos estavam para sair.
Arn puxou Cecília para si, do seu lado direito, e soltou disfarçadamente a sua espada quando saíram guiados por tochas de luz estonteante. Os dois nada disseram um para o outro, mas ambos abaixaram a cabeça e fizeram uma prece pela conciliação.
Mas nada de mal aconteceu. Em breve, os dois estavam diante da cama de noivado onde Magnus e Ingrid Ylva já se encontravam, alegres, de mãos dadas, deitados e vestidos com as suas túnicas de linho. O bispo fez uma breve oração sobre os dois, e, então, Birger Brosa e Sune Sik puxaram o cobertor sobre os noivos, a bonita e morena Ingrid Ylva e o forte e encorpado ruivo, Magnus Mâneskõld.
Todos no quarto fizeram uma profunda inspiração de alívio e Sune Sik, imediatamente, se dirigiu a Arn, estendendo para este ambas as mãos e agradecendo a Deus pela reconciliação estabelecida. E ali jurou que já não havia mais sangue entre eles. Agora, ambos eram sogros dos seus descendentes e o sangue não mais os separava, antes os unia.
Quando as testemunhas do acasalamento saíram para a praça, foram encontrar expressões de júbilo, de alívio e de alegria pelo casamento ter conduzido à paz e à conciliação.
Agora seria mais fácil melhorar o ambiente no salão. E assim aconteceu, logo que os convidados de honra se sentaram nos seus devidos lugares. Tal como Arn se recordava, só uma vez antes na sua vida, ficou doente de tanto beber cerveja e dessa vez prometeu para si mesmo que nunca mais faria uma loucura igual. Mas para sua vergonha, dali a pouco, já estava passando pelo vexame de se mostrar bêbado na mesa de Birger Brosa e Sune Sik, como se ambos tivessem formado uma Maliciosa liga de ação contra a sua tentativa de abstinência.
Cecília não sentiu pena no dia seguinte pelo mal-estar dele. Em compensação, falou muito a respeito da loucura que foi ele ter bebido tanto, sendo um espadachim e tendo uma atitude semelhante à de qualquer escudeiro malcomportado. Arn se defendeu, dizendo ter sentido um alívio tão grande no momento em que viu o cobertor ser puxado para cima de Magnus e Ingrid, que a cerveja facilmente foi ocupar o lugar de onde a sabedoria e a contenção haviam saído para comemorar, já que nem uma coisa nem outra eram mais necessárias.
Mas durante os dois dias seguintes de festa, Arn tomou muito cuidado com a cerveja e Sune Sik, além disso, fez questão de trazer vinho para a mesa dele e Cecília. O vinho era coisa que não se bebia tanto quanto a cerveja, por muito homem que se fosse.
Ingrid Ylva recebeu o burgo de Ulväsa como presente de casamento por parte dos folkeanos e, após os três dias de festa em Linkõping, o conde Birger Brosa seguiu a cavalo na frente do séquito de noivado em direção a Ulväsa que ficava junto de uma praia, num promontório do lago Boren.
Como o Boren tinha comunicação com o lago Vättern, podia dizer-se que Arn e Cecília eram quase vizinhos de Magnus e Ingrigd Ylva. No verão era apenas um dia de viagem de barco entre eles e ainda menos tempo de trenó durante o inverno. Cecília e Ingrid Ylva, que já tinham uma certa facilidade em falar uma com a outra, devido ao fato de Ingrid ter estado durante muitos anos no convento de Vreta, chegaram rápido a um acordo sobre uma coisa e outra no que dizia respeito a visitas e a grandes festas, sem que nenhum dos homens tivesse tempo de se situar demais no assunto.
A visita a Ulväsa teria que ser curta para que os jovens, assim que a honra o permitisse, pudessem deixar de lado o fardo da presença dos mais velhos. Depois disso, a intenção era que Arn e Cecília viajassem com Eskil num dos seus barcos, primeiro para Forsvik e, depois, Eskil seguiria para Arnäs. Mas quando eles se aprontavam para viajar, já no segundo dia da visita, chegou Birger Brosa, todo animado, dizendo que gostaria de ver Arn de novo em Bjàlbo para os dois terem uma conversa em particular.
Aquilo que o conde-ministro gostaria de ter ele precisava receber. Arn não fazia a menor idéia das razões que levaram Birger Brosa a marcar essa conversa, mas nada havia a fazer, a não ser explicar para Cecília e Eskil por que ele já não podia viajar na companhia deles como estava previsto e que o destino agora era outro. Ambos concordaram sem fazer perguntas. Eskil prometeu, respeitosamente, que responderia com a sua própria vida pela vida e segurança da sua cunhada. Arn riu, dizendo que agora isso podia ser declarado com mais facilidade, visto que a paz tinha sido assegurada.
Quando Birger Brosa e seu séquito já estavam prontos para partir para Bjälbo, Arn pediu desculpas e disse que iria um pouco mais tarde. Primeiro, gostaria de aproveitar a oportunidade para ter uma conversa com o seu filho Magnus a sós. Birger Brosa não podia objetar contra isso, mas ele enrugou a testa, murmurando que a viagem era curta para Bjälbo e que ele não tinha a intenção de ficar esperando pelo seu parente, já que seu tempo era muito caro. Arn prometeu não fazê-lo esperar em Bjälbo. E, na realidade, acabariam chegando ao mesmo tempo.
— Então, você vai precisar de um cavalo muito bom! — chispou Birger Brosa, partindo em grande galope tendo os seus escudeiros como surpresos acompanhantes.
— Com o meu cavalo, vou me sair muito bem, caro tio — murmurou Arn na direção do seu conde voador.
Talvez Ingrid Ylva e Magnus achassem que já tinham estado tempo suficiente na companhia de parentes e amigos. Por isso, já tinham começado até com algumas atitudes amorosas recíprocas, mas Magnus também não podia recusar-se a atender o pedido do seu próprio pai, de dar uma curta volta a cavalo e ter uma conversa particular.
Ulväsa estava bonita no seu promontório, com a água brilhando à volta e no meio os campos férteis, tratados pelo pessoal da casa e por gente da aldeia próxima, Hamra, que também agora era propriedade de Ingrid Ylva. A casa do burgo era das antigas e não devia ser muito agradável para passar os invernos nela.
Arn não disse nada a esse respeito, embora pensasse em mandar o seu pessoal de Forsvik, na próxima primavera, para construir moradias para os criados e os escravos. Cada coisa a seu tempo. Agora havia assuntos mais importantes a tratar.
Sem rodeios, nem conversa sobre o casamento ou sobre os jogos entre os jovens, na despedida de solteiro, em Bjälbo, de que Magnus parecia estar mais disposto a parlamentar, Arn entrou logo no assunto que lhe interessava. E começou descrevendo como Arnäs se tornaria. Era para lá que todos os folkeanos a três dias de viagem de Arnäs deviam se dirigir, na perspectiva de que viesse a acontecer algum infortúnio.
Magnus objetou, dizendo que, nesse caso, seriam abandonados os burgos que poderiam ser incendiados e pilhados. E Arn acenou que sim, que essa era a verdade. Mas, se o inimigo fosse forte, era mais importante salvar a vida do que algumas casas de madeira que, facilmente, poderiam ser reconstruídas.
Parecia que Magnus não tinha entendido ou não estava interessado, especialmente, no que o seu pai tinha para contar. Nenhum inimigo estava à vista até onde se pudesse ver. No momento, até a paz entre sverkerianos e folkeanos havia saído fortalecida. Não era por essa razão que eles estavam ali, em Ulväsa, e que Ingrid Ylva estava esperando na casa-grande? Não tinha sido essa a idéia do casamento, a de assegurar a paz e não tinha ele concordado com tudo, sem restrições, seguindo as indicações da família? Embora fosse uma exigência barata. Não lhe tinha custado nada ir para a cama com uma mulher, morena e muito bonita, como Ingrid Ylva, certo?
Tarde demais, Arn reconheceu que, ao contrário do que normalmente acontecia, tinha escolhido muito mal a hora para falar com o seu filho a respeito das ameaças que pairavam sobre o reino e de como se poderia evitar perdas maiores. Evitando discutir, Arn falou que não havia perigo de guerra para os próximos anos e que era absolutamente verdadeiro que o seu casamento tinha contribuído para manter a paz.
Mas ele apenas tentava ver um pouco mais além no futuro. Magnus apenas encolheu os ombros diante dessa argumentação. E, então, Arn perguntou, por fim, como é que tinha sido o resultado dos jogos entre os jovens em Bjälbo.
Foi com toda a alegria que Magnus Mâneskõld se lançou nesse tema de conversa, descrevendo em detalhe tudo o que aconteceu em cada um dos sete jogos em que ele, ao final, acabou vencedor, com Erik, o conde, novamente, em segundo lugar.
O tempo correu mais de uma hora, e Arn começou a ficar preocupado em não demonstrar impaciência, já que tinha prometido a Birger Brosa chegar ao mesmo tempo em Bjälbo. Com alguma dificuldade, Arn conseguiu evitar a proposta de Magnus de beber um caneco de cerveja antes de partir. Acabaram se separando na praça, com Arn seguindo a galope, a toda a velocidade. Magnus, pensativo, viu o seu pai naquela velocidade e achou que nenhum cavaleiro poderia continuar assim por muito tempo. Seu pai quis fazer uma demonstração de força enquanto ainda estava ao alcance da vista, mas teve que reduzir a velocidade assim que chegou ao bosque de carvalhos, ao sul de Ulväsa.
Birger Brosa e sua companhia estavam a menos de uma milha de Bjälbo, já podiam ver até as torres da igreja, quando Arn os alcançou ainda em alta velocidade, em um dos seus garanhões estrangeiros. Quando Birger Brosa soube que havia um cavaleiro se aproximando, ele se virou na sela, viu o manto folkeano e pensou primeiro que Arn tinha avançado, escondido, atrás deles e cavalgado nessa marcha impossível apenas na derradeira distância. Mas logo ficou hesitante ao ver que o cavalo de Arn estava espumando e molhado de suor.
Arn sentiu-se aliviado pelo fato de o animal, ainda jovem, ser muito bom, ainda que lento em comparação com Abu Anaza. Mas Abu Anaza era um cavalo negro e não teria dado certo para acompanhar um casamento. Segundo Cecília, esse cavalo ficava melhor para Usar em funerais. Em casamentos iria trazer má sorte.
Birger Brosa passou a dar ordens assim que eles atravessaram para trás dos muros de madeira de Bjälbo. Primeiro, ele teria de vestir uma roupa mais simples, depois passar pela sua sala de escriturações, onj o povo esperava com todo o tipo de assunto para resolver e só enr iria se encontrar com Arn e o encontro seria realizado na câmara d torre da igreja, onde, antigamente, a família se reunia. O braseiro e cerveja, colchões de penas e pedaços de cordeiro deviam ser levado para cima de imediato e a ninguém mais, a não ser Arn, devia ser permitido entrar e estar lá dentro de uma hora. Depois dessas ordens Birger Brosa desceu, pesadamente, do cavalo que deixou com um cocheiro, sem sequer olhar em volta e avançou em passos largos na direção da casa-grande.
Bastante injuriado, Arn cuidou ele próprio do seu cavalo, que exigia alguns cuidados especiais depois da corrida dura que realizou. Acabou levantando desorientação e também admiração dentro da cocheira onde os senhores raramente apareciam, mas ele não se preocupou com isso. A saúde do cavalo era agora o mais importante. Depois de secar bem o seu corpo e de limpar os seus cascos, ele pediu para trazerem alguns cobertores que colocou sobre o lombo do animal, a fim de que o esfriamento não fosse tão rápido. E ficou parado junto do cavalo, sussurrando numa linguagem estranha, enquanto o acariciava e como que o consolava. Os cocheiros abanaram as suas cabeças, trocaram alguns olhares pelas costas de Arn e se afastaram, embaraçados.
Quando deixou o cavalo, Arn foi direto tomar um banho e em seguida subiu para a câmara da torre pontualmente e ficou esperando. Na sala, havia um cheiro ácido a mofo e a argamassa. Birger Brosa chegou atrasado, mas não muito.
— Você é para mim a maior preocupação entre todos os parentes, Arn Magnusson, e com você eu nunca sei onde estou! — saudou Birger Brosa em voz bem alta, ainda subindo a escada. Depois, entrou e se deixou cair na maior poltrona, tal como Arn havia previsto.
— Nesse caso, é só perguntar que eu, com a ajuda de Deus, tentarei fazer você saber melhor, meu querido tio — respondeu Arn, humildemente. Ele não tinha a mínima vontade em entrar novamente em conflito com o conde.
— É pior do que isso! — explodiu Birger Brosa. — Pior ainda fica quando eu entendo, visto que isso faz eu me sentir um idiota por não ter entendido tudo, logo, de imediato. E disto eu não gosto. E também não tenho o menor talento para pedir desculpas e diante de você já fui obrigado uma vez a me humilhar. E agora o faço de novo, pela segunda vez. Isto nunca aconteceu e, se Deus não me abandonar, nunca mais vai acontecer de novo, eu ter, pela segunda vez, de pedir desculpas a qualquer moleque!
— O que é que você quer que eu desculpe? — perguntou Arn, admirado diante do espetáculo inflamado que o seu tio estava apresentando.
— Eu já vi o que está sendo construído em Arnäs — respondeu Birger Brosa, num tom de voz novo e baixo, abrindo os braços num gesto quase de resignação. — Vi o que você está construindo, e idiota não sou. Você está construindo um poder dos folkeanos maior do que nunca para nos fazer os grandes senhores deste reino. O meu irmão Magnus e o seu irmão Eskil contaram para mim também o que você está fazendo em Forsvik. Preciso dizer mais alguma coisa?
— Não, caso queira que eu lhe perdoe, meu tio — respondeu Arn, cautelosamente.
— Ótimo! Toma cerveja?
— Não, obrigado. Nesses dias, tenho bebido tanta cerveja que dá para ficar satisfeito até o Natal.
Birger Brosa deu um sorriso sarcástico e se levantou. Pegou dois canecos de cerveja vazios e foi até ao barril, onde os encheu. Depois, deixou um dos canecos diante de Arn e foi sentar-se novamente, adotando uma posição mais confortável entre as peles de cordeiro, cruzando uma das pernas e colocando o seu caneco balançando em cima do joelho levantado como costumava fazer. Observou Arn por alguns momentos em silêncio, mas com uma expressão de amizade no olhar.
— Conte, qual é a força que está construindo? — perguntou ele. ?— Em que pé está a construção agora? Como será a fortaleza quando Arnäs estiver pronta? E como será daqui a alguns anos?
— Posso demorar para responder a todas essas perguntas — reagiu Arn.
— Nada é mais importante para o conde-ministro do reino neste momento. E tempo nós temos. E estamos a sós. Nenhum ouvido nos escuta — respondeu Birger Brosa, pegando no caneco e bebendo dois goles bem medidos e voltando a colocar o caneco em cima do joelho. E ainda cruzou os braços, sem que o caneco se mexesse um mínimo do lugar.
— Hoje, a paz existe e a união é forte entre erikianos e folkeanos
— começou Arn por dizer, lentamente. — Os sverkerianos mantêm-se tranqüilos, esperam todo o tempo que o rei Knut se vá e, se Deus quiser, isso vai demorar ainda muitos anos. Portanto, não vejo como haver guerra por muitos anos.
— Aí, nós pensamos do mesmo jeito — concordou o conde. — Mas e depois? O que virá depois?
— Ninguém sabe — disse Arn. — Mas uma coisa eu sei. Então, o perigo de uma guerra será muito maior. Isso não significa que será pior para nós. Se a gente construir como deve ser durante o período de paz em que vivemos, a nossa força poderá salvar a paz, tão certo como bons casamentos.
— É verdade — concordou ainda Birger Brosa. — Mas onde está a nossa fraqueza?
— Não podemos enfrentar o exército dinamarquês em campo aberto — respondeu Arn, rápido.
— Um exército dinamarquês? Por que um exército dinamarquês.
— perguntou Birger Brosa, levantando as sobrancelhas.
— É o único perigo que existe e, por isso, o único sobre o qual temos de pensar — respondeu Arn. — A Dinamarca é uma grande potência, uma potência mais igual à dos francos do que nós e conduz a guerra da mesma maneira que os francos. Os dinamarqueses destruíram grande parte do Sachsen e conquistaram muitas terras, mostrando que podem bater os exércitos do Sachsen. Quando ficarem satisfeitos com o que têm no sul ou quando tiverem avançado tanto para o sul que fique difícil abastecer os seus exércitos, poderá acontecer que virem seus olhos para o norte. E aqui estamos nós, como uma presa de guerra, muito mais fácil do que o Sachsen. E em Roskilde, na Dinamarca, está sentado o filho de Karl Sverkersson, educado como um dinamarquês, mas ao mesmo tempo com direitos à nossa coroa. Ele poderá se tornar o rei representante dos dinamarqueses no nosso reino. Assim poderá acontecer, se tentarmos imaginar o pior.
Birger Brosa concordou, pensativo, quase como se reconhecesse para si mesmo que esses eram os seus pensamentos mais negros, aqueles que melhor ele queria ver longe de si. Bebeu novamente em silêncio, esperando apenas que Arn continuasse quieto até que ele formulasse uma nova pergunta.
— Quando poderemos vencer os dinamarqueses? — perguntou de repente, elevando o tom de voz.
— Daqui a cinco ou seis anos, a um custo muito alto. Mais facilmente daqui a dez anos — respondeu Arn, tão cheio de certeza que Birger Brosa, que esperava uma longa explanação de premissas, ficou pasmo.
— Explique isso melhor! — disse ele, depois de mais um longo silêncio.
— Daqui a cinco anos morre o rei Knut — disse Arn, levantando rápido a mão para que não fosse interrompido. — Nós não sabemos de nada. É um mau pensamento, mas os maus pensamentos precisam ser encarados, também. Então, chega um exército dinamarquês com um Sverker Karlsson, mais ou menos animado, lá atrás. Nós temos cem cavaleiros. Não cavaleiros que possam enfrentar um grande exército franco ou dinamarquês, mas cem cavaleiros que podem fazer das caminhadas deles no nosso país um longo sofrimento. Eles jamais Poderão nos alcançar e nos enfrentar. Mas nós tomamos o seu estoque e abastecimento, matamos seus animais de carga, matamos ou ferimos uma dúzia de dinamarqueses por dia. Na melhor das hipóteses, vamos atraí-los fazendo que nos sigam para Arnäs. Aí eles se afundam durante o sítio. Isso é o que acontecerá em cinco anos e o preço será a grande devastação de Skara para cima, para o norte.
— E daqui a dez anos? — perguntou Birger Brosa.
— Daqui a dez anos, nós os derrotamos no campo de batalha, depois de os ter atormentado durante um mês, com os nossos cavaleiros rápidos — respondeu Arn. — Mas, para que tudo isto seja possível, você também precisa se esforçar e custear uma boa parte do esforço, o que vai abrir alguns buracos na sua arca de pratas.
— Por que eu, por que não o rei Knut? — aventurou Birger Brosa, pela primeira vez, realmente surpreso, durante essa conversa muito dura.
— Porque você é folkeano — respondeu Arn. — Esse poder que estou construindo não é do reino, mas da família folkeana. É verdade que jurei fidelidade a Knut, e esse juramento mantenho. Talvez um dia eu faça o mesmo juramento para Erik, o conde. Mas a esse respeito também nada sabemos. Hoje, estamos ligados aos erikianos. Mas e amanhã? Também nada sabemos. A única coisa certa, é que nós, os folkeanos, estaremos juntos e que seremos os únicos com o poder suficiente para manter o reino a salvo.
— A esse respeito, acho que tem mais razão do que você mesmo imagina — disse Birger Brosa. — Logo te contarei uma coisa que é só para os teus ouvidos. Mas, antes, me diz, o que acha que devo fazer como conde-ministro ou como folkeano?
— Você precisa construir uma fortaleza na praia ocidental do lago Vättern, talvez perto de Lena onde você já tem uma grande propriedade. Os dinamarqueses vão vir de Skâne, entrando pela Götaland Ocidental. Em Skara, podem continuar na direção noroeste a caminho de Arnäs ou podem seguir pelo caminho não defendido, passando por Skõvde e para cima na direção do lago Vättern e de Näs onde está o rei. É lá em Lena que tem de existir uma resistência maior e espero que isso seja a sua preocupação. Axevalla, perto de Skara, também precisa ser fortalecida. Nós teremos os nossos guerreiros em três fortalezas. E entre eles os nossos cavaleiros se movimentando em todos os sentidos, sem que o inimigo nos alcance ou saiba de onde virá o próximo ataque. Com três fortalezas bem construídas e providas, das quais uma absolutamente inconquistável, estaremos seguros.
— Mas Axevalla é uma fortaleza do soberano — objetou Birger Brosa, pensativo.
— Tanto melhor para as suas despesas — sorriu Arn. — Se eu construir Arnäs e você construir a fortaleza perto de Lena, então, não será difícil para você, como conde-ministro do reino, convencer Knut que o rei também tem de fazer a sua parte, fortalecendo o seu Axevalla, certo? Ele faria isso não só para o seu bem, como também para o nosso.
— Estou notando que você passou a me tratar por você, como se fôssemos iguais — disse Birger Brosa, sorrindo pela primeira vez, um sorriso bem aberto que era a sua marca registrada desde a juventude.
— Então, essa é a minha vez de pedir desculpas, meu tio. Eu me distraí — respondeu Arn, com uma curta vênia com a cabeça.
— Eu me distraí também, visto não ter pensado nisso antes — respondeu Birger Brosa, continuando sorridente. — Mas daqui em diante, quero que continuemos a nos tratar por você, menos talvez durante a reunião do conselho do rei. E agora me deixe falar sobre uma questão difícil. Talvez eu queira que Sverker Karlsson seja o nosso próximo soberano.
Birger Brosa calou-se rápido, depois de ter apresentado essa idéia atroz de traição. Ele esperava talvez que Arn, com isso, se levantasse, cheio de raiva, derrubasse a sua cerveja ou avançasse contra ele com palavras menos respeitosas ou pelo menos abrisse a boca, de queixo caído pela surpresa. Mas, com decepção e surpresa, ele acabou verificando que Arn não mexeu um só músculo do rosto, ficando apenas na espera pela continuação.
— Agora, você vai querer saber, certamente, como é que eu cheguei a essa conclusão — perguntou Birger Brosa, quase mal-humorado e com um sorriso evanescente.
— É claro — respondeu Arn, sem alterar a sua expressão. — Isso que você diz pode significar traição ou pode significar uma atitude muito sensata. E eu gostaria de saber qual é o certo...
— O rei está doente — suspirou Birger Brosa. — Por vezes, ele sangre e isso não é um bom sinal. Talvez ele não viva nem esses cinco anos de que precisamos para, pelo menos, podermos nos defender.
— Eu tenho curandeiros, homens que, no momento, pouco têm que fazer. Vou mandá-los para Knut logo depois do Natal — disse Arn.
— Curandeiros, você disse? — interrompeu Birger Brosa, no meio dos seus pensamentos. — Eu achava que eram apenas mulheres que faziam isso. De qualquer forma, defecar sangue é mau sinal e a vida de Knut está nas mãos de Deus. Se ele morrer cedo demais, estaremos mal.
— Sem dúvida — confirmou Arn. — Por isso, vamos raciocinar na pior hipótese. Knut morre dentro de três anos. Que faremos, então? É aí que entra Sverker Karlsson nos seus pensamentos, certo?
— Isso. Ele chega com os seus dinamarqueses — confirmou Birger Brosa, com um ar sombrio. — Ele está junto com sua mulher dinamarquesa, Benedikta Ebbesdotter, acho que é assim que ela se chama, há seis ou sete anos. Nasceu cedo uma filha, mas, depois, nada mais. E nenhum filho.
— Acho que já estou entendendo — disse Arn. — Nós damos a coroa do rei para Sverker, sem guerra. Mas não damos algo tão importante em troca de nada. Ele precisará jurar que Erik, o conde, lhe sucederá como rei, certo?
— Mais ou menos isso — aprovou Birger Brosa.
— Muita coisa poderá sair errada nesse estratagema — ruminou Arn. — Ainda que Sverker Karlsson não tenha nenhum filho, poderá acontecer que algum novo parente na Dinamarca venha exigir a nossa coroa e aí caímos na mesma.
— Mas então já teremos ganho muitos anos em tempo, muitos anos sem guerra.
— Sim, isso favorece os folkeanos, sem dúvida — anuiu Arn. Ganhamos todo o tempo de que precisamos para montar um poder vencedor. Mas satisfeitos não vão ficar, certamente, os erikianos em Näs, se você apresentar a eles aquilo que me disse.
— Não. Também acho — disse Birger Brosa. — Mas, agora, os erikianos estão numa situação difícil. Depois de Erik, o conde, ter brigado e gritado o suficiente e nos convocado para uma assembléia, gesto que ele vai lamentar, acabará chegando à conclusão que sem os folkeanos não haverá guerra por causa da coroa. Sem nós, nada de poder. Acho que seu pai, Knut, terá mais facilidade em entender isso. Muito depende, evidentemente, da saúde de Knut nos próximos anos. Mas, se ele piorar, encontrarei o momento certo para descrever como iremos salvar a paz. E com isso a cabeça de Erik, o conde, e a sua coroa. Knut vai concordar, caso a doença o aperte e se o momento para essa conversa for bem escolhido.
— E depois de Erik, o conde? — perguntou Arn, com um sorriso de desprezo. — A quem você vai querer entregar a coroa de rei?
— Nessa hora, eu já não farei parte desta vida — riu Birger Brosa, levantando o seu caneco e bebendo a cerveja até o fim. — Mas se o meu posto de observação no céu for mais ou menos bom e foi para isso e para salvar a minha alma que paguei muitas orações e a construção de três conventos, devo, pelo menos, ficar sentado num lugar de onde poderei ver o que será para mim um grande prazer, a coroação do primeiro folkeano!
— Então, sugiro que você comece imediatamente a casar os seus parentes com a Svealand, de preferência a casá-los com novos ou novas sverkerianas — disse Arn, com um rosto sem expressão.
— É justamente nisso que eu estava pensando! — se abriu Birger Brosa. — E, de repente, me lembrei de que o seu irmão Eskil, que é um extraordinário bom partido, certamente, em breve, vai precisar de uma nova esposa!
Arn suspirou, sorriu e levantou o seu caneco de cerveja na direção de Birger Brosa. Sua admiração pela capacidade do tio em dirigir a luta pelo poder era enorme. Esse tipo de homens era muito raro, até mesmo na Terra Santa.
Mas ele se preocupava também por sentir que talvez as muitas orações pagas e três conventos não fossem suficientes para garantir em Vida um bom posto de observação, tal como o seu tio Birger Brosa Parecia ter a certeza de ir ocupar. Embora sobre esse assunto Arn não tenha dito uma palavra.
A primeira neve caiu cedo e em grande quantidade, naquele ano. Entre os estrangeiros em Forsvik, a neve e, o que era pior, o frio tiveram um efeito muito estranho. Uns passaram a demonstrar muito mais atividade, enquanto outros se mantinham junto do fogo, sem se mexer nem para respirar. Mas explicar essa diferença não era muito difícil, visto que os mais ativos trabalhavam nas forjas e na vidraria onde o calor lhes permitia trabalhar em mangas de camisa fina e com tamancos altos de madeira com cobertura de couro grosso sobre o peito do pé, por muito frio que estivesse lá fora.
Outros trabalhos de inverno como procurar mais lenha de trenó e limpar com pás a praça do burgo ou ainda as passagens entre as casas, isso eram os escravos que faziam. Para esse tipo de trabalho, seus pés estavam bem mais defendidos.
Jacob Wachtian surpreendeu Arn na segunda semana de neve, pedindo autorização para cobrir com neve aquela parte da tubulação de água que estava à superfície e que levava água para a casa de hóspedes. Arn avisou indulgente que isso não era o mais sensato a fazer, visto que era de evitar o congelamento da água no cano. Mas Jacob Wachtian insistiu, dizendo que era isso que ele queria evitar e afirmou que a neve era mais quente do que o ar e que ele tinha ouvido falar disso direto de parentes que viviam bem no alto das montanhas na Armênia. Como Jacob Wachtian não cedeu, antes insistiu de uma maneira muito respeitosa, Arn decidiu fazer um teste em um dos canos e que Jacob poderia escolher qual deles. Envolto em muitas e desnecessárias amabilidades, o irmão cristão explicou em seguida que eram muitos os homens que moravam lá dentro da casa-grande e como a maioria nunca tinha visto neve na vida, o prejuízo seria maior se a água congelasse e obrigasse toda a gente a sair para satisfazer as suas necessidades, assim como seria mais difícil se lavar pelas manhãs e à noite.
Arn, então, disse para ele fazer como quisesse, ainda que achasse que não iria dar certo. A parte da tubulação à superfície foi então coberta com uma grande altura de neve.
Logo em seguida, a água dirigida sobre a superfície para a casa de Arn e Cecília parou de correr e quando ele foi ver como estava a situação na casa-grande dos sarracenos, verificou que a água corria tão fresca e limpa como no verão.
Resmungando e grunhindo, Arn teve de ir buscar Gure para o ajudar a quebrar a tubulação com espetos e enxadas e meter água fervente em vários lugares. Finalmente, conseguiram soltar o gelo do cano que correu pela casa, deixando a água seguir novamente como antes. E logo Arn mandou cobrir a tubulação da água com neve do mesmo jeito que na casa-grande dos estrangeiros e tudo voltou à normalidade, mesmo no meio do inverno mais rigoroso.
O inverno era um tempo bom para pensar. O trabalho não era muito e só as idéias ficavam balançando na cabeça.
Por isso, Arn instituiu o majlis, que se pronunciava mailis, todas as quintas-feiras, depois das orações do fim da tarde, na casa-grande dos sarracenos para onde ele mandou também os estrangeiros cristãos. Na primeira reunião, pediu desculpas, dizendo que esse antigo e bom hábito de se reunirem e conversarem já devia ter começado há mais tempo. Mas como, certamente, todos deviam entender, havia necessidade de acelerar e terminar os trabalhos antes de o inverno chegar. Agora, estavam ali todos sentados, finalmente, e aquilo que não pôde ser feito, por fazer ficava, até chegar a primavera. Portanto, do que é que se poderia falar?
De início, ninguém respondeu à sua pergunta. Era como se esses sarracenos, por muito normal que a idéia do majlis fosse para a maioria deles, tivessem esquecido o natural na vida, só porque tudo na Escandinávia era estranho. Na pior das hipóteses, pensou Arn, talvez eles se sintam como escravos, deixados à mercê de um senhor estrangeiro.
Arn traduziu tudo o que disse em árabe para o francês, ao pensar nos dois ingleses que não entendiam nada de árabe, se bem que o seu trances também fosse aquelas coisas.
— Salário — falou, entretanto, Athelsen Crossbow que foi o primeiro a se manifestar. — Nós trabalhar um ano, onde está salário? — falou ele.
Arn traduziu de imediato a pergunta em árabe e viu que mais de um olhar se acendeu na sala.
Roupas de trabalho também seriam um assunto para falar, disse um dos pedreiros. O velho Ibrahim que era o mais reverenciado dos chamados crentes da boa-fé e o único que podia falar por todos, acrescentou ser necessário resolver a questão do dia de descanso ordenado por Deus, visto haver alguma confusão a respeito do assunto.
Após uns momentos de contenção, a timidez inicial de todos ali reunidos foi varrida para longe e, então, todos começaram a falar ao mesmo tempo, de tal maneira que Ibrahim e Arn tiveram que altear a voz para restabelecer a ordem.
A primeira decisão dizia respeito ao salário. Na opinião da assembléia, era melhor receber o salário ao fim de cada ano de trabalho em vez de receber todo ele ao fim de cinco anos e antes da viagem de volta para casa. Objeções não faltaram. Que era muito difícil guardar prata e ouro que, de qualquer forma, não dava para usar em Forsvik ou, como alguém mais insinuante disse, não havia razão nenhuma para duvidar da palavra de Al-tahouti e que, certamente, o ouro de todos estaria mais seguro no forte de Al-Ghouti em anNes, quer dizer, Arnäs.
Entretanto, Arn decidiu que da próxima vez que fosse a Arnäs, o que iria acontecer durante a maior festa sagrada dos cristãos, ele traria o salário de cada um em moedas de ouro.
A questão das roupas de trabalho era mais fácil de resolver. A maioria na sala sabia muito bem o que era exigido nas pedreiras e nas ferrarias e vidrarias. Arn assegurou a todos que essa seria a principal missão dos que trabalhavam com couro, durante o inverno. Eram os pedreiros que mais precisavam das roupas reforçadas com couro.
Pior foi resolver a questão do dia de descanso, se devia ser na sexta-feira ou no domingo. Apagar as forjas e a vidraria dois dias por semana estava fora de questão. Com os ferreiros podia-se resolver o problema de maneira simples, visto haver muitos cristãos, em especial, contando os escravos em Forsvik como cristãos, que podiam trabalhar nas sextas-feiras, assim como os chamados crentes da boare podiam trabalhar aos domingos. Tão simples assim não podia ser resolvido na vidraria onde todos os responsáveis eram muçulmanos, com a exceção dos dois irmãos Wachtian.
Arn perguntou, então, ao irmão Guilbert como é que tinha sido resolvido o problema em Arnäs e ele ficou meio perturbado, sussurrando qualquer coisa, meio incompreensível, a respeito de ter transformado os domingos em sextas-feiras sem que ninguém reclamasse. Suas palavras provocaram um forte rumor de insatisfação e um pouco de olhares de repreensão por parte dos que trabalhavam na construção da fortaleza. Obviamente, estavam vivendo iludidos, não sabendo o que era sexta-feira e o que era domingo.
A disputa que logo ameaçou crescer demais, mesmo se tratando de majlis, Arn cortou pela raiz, dizendo que durante o inverno e em Forsvik, a sexta-feira seria o dia de descanso para os muçulmanos e domingo, para os cristãos. E ponto final. Como iria ser feito quando recomeçassem os trabalhos de construção em Arnäs na primavera, isso era coisa para ficar pensando por enquanto.
Nem todos ficaram totalmente satisfeitos com essa primeira reunião, esse primeiro majlis, mas isso era de esperar. Porque é assim mesmo que costuma acontecer. E porque é assim mesmo que deve acontecer.
Mais discussão tiveram Arn e Cecília a respeito da melhor ocasião para libertar os escravos. Ficaram os dois algumas noites junto com o irmão Guilbert no seu próprio quarto para poder falar sem serem incomodados, já que esse seria um segredo absoluto até o momento de se tornar realidade. Para maior segurança ainda, eles conversavam em latim.
O irmão Guilbert era totalmente a favor da libertação dos escravos. E nem outra coisa era de esperar. Mas achava que uma comunicação tão importante tinha de ser feita com prudência e sabedoria. Bastava tentar imaginar-se a si próprio como escravo e receber uma tal notícia. Ele se preocupava, principalmente, com a possibilidade da extrema docilidade dos escravos se transformar em sentido contrário, e essas almas simples e pobres enlouquecessem e se atacassem com armas mesmo caseiras para acertar velhas pendências, na crença de que aquele que fosse livre podia se debater como e quando quisesse ou então que essa loucura os levasse a fugir para as florestas.
Cecília comentou que de Forsvik, certamente, ninguém ia correr para as florestas no meio do inverno. Por isso mesmo a mensagem devia ser dada em breve, na época mais fria.
Arn considerou que era de pouca utilidade ficar tentando adivinhar como qualquer escravo pensa, isto porque devia ser impossível para alguém em sã consciência tentar adivinhar uma coisa dessas, tendo passado a vida inteira como pessoa livre. Será que não deviam, de preferência, perguntar a algum deles?
Os outros dois afastaram de imediato essa proposta, dizendo que o menor sinal para algum deles iria logo transformar Forsvik numa casa de galinhas doidas com rumores e más interpretações, antes mesmo do fim da tarde. Mas Arn insistiu e pediu para que sugerissem a quem dos escravos devia ser feita a pergunta.
Gure, o filho de Suom, responderam os dois ao mesmo tempo. Para Gure, que nem mesmo antes de a neve começar a cair deixou de ter trabalho para fazer com lareiras e portas mal calafetadas nas instalações para os escravos, a chamada repentina para comparecer diante do dono soou como um mau prenúncio. Interrompeu logo o que estava fazendo, pulou da casa dos escravos e seguiu pela praça, se esgueirando para a casa do senhor Arn. Preocupado, pensava que talvez tivesse dedicado mais tempo às instalações dos escravos do que à cocheira e ao estábulo. E que palavras duras eram de esperar. O chicote, ele não receava, pois isso não se usava em Arnäs, e também já sabia, por todos lhe terem contado, que nenhum escravo tinha sido chicoteado desde a mudança de dono em Forsvik.
Diante da casa do senhor Arn, ele parou na neve e ficou indeciso. Ouvia vozes lá dentro que pareciam altas demais e percursoras de maus acontecimentos. Era como se o senhor Arn e as outras pessoas com quem ele falava numa língua estrangeira estivessem em desacordo. O que o preocupava não era o castigo que ele certamente ia receber, ainda que sem saber por quê. Já estava à espera há tanto tempo ninguém vinha. E ele próprio também não podia entrar. Nenhum escravo podia entrar no quarto da dona da casa e, além do mais, ela estava lá dentro. Meteu as mãos nos sovacos e começou a bater os pés na neve para não começar a tremer de frio.
Chegou a pensar que esse talvez fosse o castigo, o de congelar por seus pecados. Mas não teria ele, pelo menos, o direito de saber por quê? De que valia o castigo se não se soubesse claramente a razão?
O irmão Guilbert, inesperadamente, veio em seu socorro, o que podia não ter acontecido se ele tivesse pensado no lavatório existente na casa de Arn. Ele próprio morava na casa-grande e estava habituado a sair e verter fora as suas águas. Justo quando levantou o seu capuz na escada, descobriu que estava prestes a verter essas águas em cima do pobre Gure.
O irmão Guilbert conteve as suas necessidades, pegou Gure pelos ombros e levou-o para dentro, passando pela antecâmara escura e entrando no quarto grande onde a lareira aquecia como numa sauna. O monge guiou-o para a lareira, pressionando o corpo de Gure para mais perto do fogo, enquanto falava com Arn naquela língua estranha.
Gure esfregou as mãos diante do fogo, aquecendo-as. E, ao mesmo tempo, baixando os olhos para o chão, mas notando como o seu dono e o monge o examinavam, embora nenhum deles dissesse qualquer coisa. De repente, a senhora Cecília levantou-se, pegou uma tábua com presunto defumado que estava na cama, e levou-a até ele, trazendo uma faca.
Gure não entendeu nada, a não ser que aquilo que estava acontecendo não podia acontecer. Uma senhora não trazia comida para um escravo e ele não sabia o que fazer com a faca e o presunto. Mas ela acenou com a cabeça e fez sinal que era para cortar e comer. E, contra vontade, ele fez isso.
— Não era nossa intenção que você ficasse lá fora no frio à espera Gure — disse Arn finalmente. — Pedimos para você vir aqui porque há uma coisa que queríamos lhe perguntar.
O senhor Arn fez silêncio e todos os três ficaram ainda olhando fixamente para ele e para o presunto defumado que ele nunca tinha comido e que começou a ficar enrolado na boca, como se Gure não ousasse engolir.
— O que vamos perguntar a você vai ter que ficar entre nós e entre estas quatro paredes — continuou a senhora Cecília. — Queremos saber o que você acha, mas não queremos que você espalhe as nossas palavras para mais ninguém. Você entende?
Gure acenou com a cabeça, concordando com a ordem, mas ainda sem dizer nada. Imaginou, então, que alguma coisa de valor teria sido roubada e os donos, agora, queriam perguntar a ele sobre isso, já que ele era aquele que melhor podia observar todos os escravos em Fors-vik. Era ruim, pensou, já que ele não tinha essa capacidade. Mas talvez não acreditassem nele. Os ladrões eram enforcados. Mas qual seria o castigo para aquele que defendesse o ladrão com uma mentira?
— Se déssemos a liberdade para você, Gure, o que você faria? — perguntou o senhor Arn, sem avisar.
Gure teve de pensar bem antes de responder àquela inesperada pergunta. Conseguiu a muito custo engolir a carne que tinha na boca, achando que precisava dar uma resposta inteligente em seguida, já que os donos e o monge olhavam para ele como se estivessem à espera de qualquer coisa de extraordinário.
— Eu agradeceria ao Cristo Branco primeiro e depois agradeceria aos meus donos — respondeu ele, finalmente, como se as palavras apenas corressem da boca para fora. E logo lamentou que não tivesse mencionado os donos antes do Cristo Branco.
— E o que faria depois disso? — perguntou a senhora Cecília, sem se importar que ele tivesse mencionado o Cristo Branco antes dela.
— Eu iria até um clérigo para ser batizado — respondeu ele, esperto, para ganhar tempo. Mas muito tempo ele não ganhou, isto porque logo o monge entrou na conversa.
— Eu posso te batizar amanhã, mas o que você faria depois? — perguntou o irmão Guilbert.
De início, Gure ficou sem resposta. A liberdade era um sonho, mas um sonho que terminava onde começava. Depois disso, não havia nada.
— O que é que um liberto pode fazer? — respondeu Gure, com dificuldades no pensar. — Um homem livre precisa comer. Um homem livre precisa trabalhar. Se eu, como homem livre, pudesse continuar construindo, eu gostaria de fazer isso. O que é que eu sei fazer senão isso?
— Os outros também pensam como você? — perguntou a senhora Cecília.
— Sim, todos pensam assim, sem dúvida — respondeu Gure, agora mais seguro de suas palavras. — Há tempos que se vem sussurrando que devíamos ser libertados. Alguns disseram saber isso com certeza. Outros desdenharam do rumor que sempre circula pelo burgo e arredores. Os libertos podem ficar com o seu dono ou preparar novas terras, é isso que acontece e é isso que todos sabem. Se pudermos ficar em Forsvik, então ficamos. Se nos mandarem embora, teremos que nos adaptar às circunstâncias. Mais do que isso não existe para escolher.
— Nós agradecemos a sua colaboração, as suas palavras — disse o senhor Arn. — Você é um homem de bem, que pensa bem, e já entendeu quais são as nossas intenções. Por isso, vou contar a você a verdade. Quando a sua dona e eu voltarmos do Natal em Arnäs, onde vamos passar as festas, vamos dar a liberdade a todos os escravos de Forsvik. É isso aí. Mas nós não queremos que você conte para nenhum dos seus iguais, nem para ninguém, nem mesmo para a sua própria mãe. Esta é, provavelmente, a última ordem que eu estou dando a você como escravo. E é uma ordem para você cumprir mesmo.
— A palavra de um escravo não vale nada, nem por lei, nem na opinião do povo — respondeu Gure, olhando direto nos olhos de Arn. — Mesmo assim, tem a minha palavra, senhor Arn!
Arn não respondeu, mas sorriu ao se levantar e fazendo sinal para Cecília fazer o mesmo, o que levou o irmão Guilbert a se pôr em pé, também. Gure compreendeu rápido o significado dessa atitude, que estava na hora de ele ir embora, mas não sabia como se despedir. Acabou tentando fazer uma vênia, enquanto saía discretamente.
Assim que Gure fechou a porta atrás de si, Arn, Cecília e o irmão Guilbert começaram a falar ao mesmo tempo a respeito do extraordinário acontecimento que tinham presenciado. Arn queria dizer que o que tinham visto com os próprios olhos e escutado com os próprios ouvidos demonstrava que os escravos não eram tão curtos de cabeça como se dizia. O irmão Guilbert queria batizar logo todos os libertados e que esse Gure devia ser nomeado o capataz dos libertados, de modo que nem Arn nem Cecília precisassem ficar correndo de um lado para o outro determinando sobre cada pequena coisa. A esse respeito, ambos concordaram com ele, mas Cecília alertou para o fato de que talvez nem todos fossem como Gure. Ela o tinha observado bastante enquanto ele falava e tinha notado então algo de extraordinário. Gure falava como nenhum outro escravo que ela tivesse ouvido antes, quase como eles mesmos. Também tinha notado que ele nem parecia um escravo e que, se Arn e Gure trocassem de roupas, muitos iriam errar ao indicar quem seria o escravo e quem seria o cavaleiro.
O que tinha dado para dizer o que disse, nem ela entendeu, mas se arrependeu logo quando viu, pela primeira vez, a ira relampejar nos olhos de Arn. Nem ajudou em nada ela tentar disfarçar dizendo que, na realidade, Gure se parecia mais com Eskil, se bem que mais magro.
Em meados de dezembro, no dia de Santa Luzia, em que as noites são as mais longas do ano e em que as forças do mal ficam mais fortes do que em qualquer outro dia ou noite do ano, era muito o barulho que se ouvia em Forsvik. Os escravos da casa saíram em procissão no meio da fria noite de inverno com tochas acesas e máscaras com cornos feitos de palha entrelaçada, dando três voltas na praça do burgo. Apesar do frio intenso, muitos dos sarracenos ficaram vendo, espantados, se aglomerando na entrada da casa-grande, envoltos em mantas e tapetes, a fim de apreciar o estranho acontecimento. O frio era tanto que até pisar na neve fazia barulho sob as botas empalhadas que usavam por cima dos sapatos normais. Mas foi assim que as forças do mal foram mantidas longe de Forsvik também naquela noite e em breve já tinha baixado de novo o silêncio gelado do meio do inverno sobre o burgo, em que apenas os caçadores estavam acordados.
Quando Arn e Cecília, Torgils e os garotos Sune, Sigfrid e Bengt, além dos cristãos estrangeiros de Forsvik, voltaram de Arnäs nos seus trenós e de uma festa de Natal extraordinariamente moderada para ser realizada em casa do senhor Magnus, chegou o momento da grande mudança.
No dia seguinte, antes da refeição do meio-dia, todos os escravos de Forsvik foram convocados para o salão da casa-grande. Eram mais de trinta almas, contando com uma ou outra criança nos braços da mãe. Muitos deles eram escravos acostumados a trabalhar nos campos e nos celeiros e nunca tinham posto os pés no salão da casa-grande. As escravas da casa fizeram piadas a respeito desses seus comparsas que olhavam tudo de olhos bem abertos, espantados.
Quando todos estavam reunidos, Arn e Cecília se levantaram no lugar de honra e Arn usou da palavra, a pedido de Cecília, embora esses escravos por direito fossem mais de sua propriedade do que da dele.
Em poucas palavras, Arn disse do que se tratava. A senhora Cecília e ele próprio tinham decidido que em Forsvik ninguém seria considerado mais escravo, já que isso era uma abominação aos olhos de Deus. Portanto, todos agora eram livres e podiam acrescentar ao seu nome a palavra Forsvik ou se considerarem forsvikarianos, para que todos e cada um em particular ficassem sabendo em aldeias e outros burgos que eles vinham de um lugar onde não havia escravos.
Como homens e mulheres livres, trabalhariam por um salário e que o salário do primeiro ano, para aqueles que ficassem em Forsvik, seria pago no próximo Natal. Para aqueles que preferissem desbravar novas terras para Forsvik contra o pagamento de renda, também isso Poderia ser considerado.
Quando Arn e Cecília voltaram a se sentar depois dessas palavras, ficaram espantados e, ao mesmo tempo, desapontados, visto que nem sequer um grito de alegria se ouviu, nenhuma manifestação de agradecimento veio até eles e nenhuma prece se fez. Podiam ver bastante surpresa em muitos dos rostos, de modo que não havia razão para acreditar ter Gure quebrado a sua promessa de silêncio. Um ou outro abraçava quem estava ao seu lado, tranqüilamente, e havia algumas lágrimas escorrendo, também.
Cecília levantou-se de novo do lugar de honra e logo todos pararam de murmurar e ficaram em silêncio, assim que ela estendeu a sua mão direita, sinal habitual de ordem para se calarem.
Tranqüila, ela disse que no dia seguinte seria realizada a festa de Natal naquele salão, com todas as suas atividades e acompanhamentos e que todos os libertados de Forsvik estavam convidados para essa festa.
Parecia, primeiro, que ela não se tinha feito entender direito. Por isso, voltou a repetir as suas palavras, agora com mais ênfase, dizendo que a frase todos os libertados de Forsvik não podia significar outra coisa senão todos os que estavam ali na sala. Mas parecia que ainda não tinha feito se entender.
Então, disse que havia muita cerveja em Forsvik, já que tinham produzido bastante no outono como nos velhos tempos em que os proprietários bebiam mais cerveja. Agora, as chaves estavam com ela, não se bebia tanto e seria uma pena se essa cerveja ficasse por usar e acabasse se estragando nas barricas. Só então ela se fez entender de verdade e só então recebeu o tipo de reação que tanto ela como Arn tinham esperado e acreditado que a mensagem de liberdade iria produzir.
Mais tarde, quando estavam ceando com o irmão Guilbert e os irmãos Wachtian que, de vez em quando, comiam com os donos cristãos e não com os muçulmanos na casa-grande, a conversa ficou inusitadamente animada, ainda que em latim, tentando entender a inesperada tranqüilidade de os escravos reagirem ao anúncio da sua liberdade e a reação de muito mais alegria quando foram convidados para beber cerveja. Cecília disse estar decepcionada pelo fato de ver que a cerveja nesta terra detinha um significado tão grande que até mesmo os escravos apreciavam mais uma bebedeira do que a liberdade. Tanto
Arn como o irmão Guilbert concordaram que a conclusão era desanimadora.
Marcus Wachtian ponderou, após alguns momentos de reflexão, que tudo devia estar ligado a uma situação completamente diferente. Nenhuma pessoa em sã consciência, nem mesmo neste país, podia considerar a bebida mais valiosa do que a liberdade, definiu ele. Em compensação, o convite para beber cerveja foi o primeiro grande acontecimento em liberdade, uma coisa que jamais poderia acontecer com um escravo. Aquele que era escravo em um momento e no momento seguinte se via ao lado dos senhores com o caneco de cerveja na mão sabia então, e só então, que ele realmente estava livre.
Os cristãos dedicaram o resto da noite a ouvir a história maravilhosa e lamentável da vida dos irmãos Wachtian em que incêndios e mortes e aldeias arrasadas se transformavam em riqueza e serviços prestados a condes para, depois, tudo se transformar novamente em incêndios e fugas, até que finalmente acreditaram estar seguros em Damasco. E agora estavam bem longe onde o mundo terminava, bem ao norte, na Escandinávia, e não sabiam se a sua infelicidade tinha terminado ou se tudo iria recomeçar de novo.
Na noite seguinte, foi ainda mais excepcional, visto que houve o banquete dedicado àqueles que apenas viviam há uma noite e um dia em liberdade.
Arn estava receoso de que toda a cerveja que existia em Forsvik fosse conduzir a loucuras e violência. Cecília, por seu lado, receava mais a habitual seqüência de vômitos, receando não haver ninguém para limpar a sujeira, já que não existiam mais escravos em Forsvik.
Nenhum dos dois teve razão. A festa decorreu com muita tranqüilidade para ser realizada na Götaland Ocidental. Sem dúvida, a mais silenciosa jamais realizada naquela sala. De início, todos tentaram beber e comer como os senhores no lugar de honra. E, assim, pela primeira vez, a moderação de Arn e de Cecília com a bebida e a comida ficou servindo como orientação para boas maneiras.
Obviamente, houve um par de homens que vomitou mais tarde, apesar de toda a cautela. Cecília admitiu que isso poderia ter acontecido pelo fato de essas almas agora libertadas não estarem habituadas a beber cerveja. Os poucos vômitos que houve foram limpos tão rápido quanto no tempo dos escravos e pelos mesmos homens e mulheres que faziam o serviço antes. E os que vomitaram foram levados para fora por Gure, com um grande puxão de orelhas.
Foi bebido apenas um décimo da cerveja que normalmente saía numa festa de folkeanos. Mas a carne de porco teve uma saída melhor.
Com a aproximação do ano-novo, chegou um vento do norte com uma semana de tempestades de neve que cobriram Forsvik com um grande manto branco, de certa forma aquecedor, já que impedia a passagem do vento gelado pelas frestas da velha casa de madeira onde o frio teria atacado a todos por igual, livres e não livres.
Durante as tempestades, nem os caçadores saíam para caçar. Nas forjas e na vidraria, o trabalho continuou como normalmente, mas os exercícios de cavalaria tiveram de ser cancelados. E como todas as aberturas nas paredes para arejar e deixar entrar a luz ficaram fechadas, também não deu para continuar os exercícios na cocheira, com o irmão Guilbert, iniciado com os garotos e Torgils Eskilsson. Na escuridão, ninguém conseguia atirar suas flechas, nem acertar seus golpes de espada.
Mas o meio do inverno era o tempo das sagas e das histórias na Escandinávia. Nenhuma noite escura se perdia sem alguém contar uma história ou sem uma longa conversa sobre assuntos para os quais ninguém encontrava tempo na época mais corrida do ano. Na casa dos escravos contavam-se histórias que os donos não gostavam de ouvir, mas a maioria dos libertos achava que aquilo que os donos não escutavam também não lhes incomodava.
Arn e o irmão Guilbert se sentaram juntos durante três dias na câmara de Arn e Cecília, enquanto esta passava o tempo com Suom e mais algumas das antigas escravas na oficina de tecelagem e costura e perto da vidraria onde o frio não era tão difícil de agüentar.
A questão que o irmão Guilbert e Arn discutiam, de todos os ângulos, dizia respeito à dificuldade de pensar em conseguir coisas boas através da violência. Muitos crentes cristãos achariam muito difícil entender esse tipo de discussão, mas para dois templários não havia qualquer dificuldade em entender como a espada e o fogo podiam servir à causa de Deus. Justo isso era a missão dos templários, dada pelo próprio Deus e sob a proteção de Sua Mãe.
A questão, porém, era saber se essa boa ordem reinante entre os templários podia ser aplicada a uma vida cristã normal. A primeira vez que o irmão Guilbert ouviu Arn dizer que era com pedra e ferro que ele iria construir a paz, ele nem sequer podia imaginar essa possibilidade. Mas a nova fortaleza de Arnäs e aquela que seria construída em seguida em Forsvik, na sua opinião, não serviam a outro propósito senão à conquista do poder secular.
No entanto, a coisa mudava de figura no momento em que ele ouviu a história da origem do ouro que estava servindo para custear as pedras da construção e o ferro das armas. Esse ouro teria ido para o bolso do traidor Ricardo Coração de Leão. E, em vez disso, seria convertido, pela ordem, em uma fortaleza pela paz, uma força de cavalaria semelhante à dos templários e uma igreja em Forshem dedicada ao Santo Sepulcro.
Em especial, essa idéia da construção da igreja impressionou o irmão Guilbert. Nada poderia agradar mais a Deus do que a construção de uma igreja dedicada à Sua Sepultura, em que as pessoas poderiam procurar o Seu sofrimento e morte dentro de si, em vez de necessitar empenhar-se na procura da sua própria morte diante dos cavaleiros sarracenos na Terra Santa, certo?
Melhor jamais Deus poderia ter guiado Saladino para longe do néscio Ricardo e no caminho de um trabalho que Lhe agradava mais, realizado bem longe no mundo, longe do centro considerado como sendo Jerusalém.
Longe, também, tinha chegado o irmão Guilbert no seu raciocínio a respeito de participar nas construções de Arn de consciência limpa, sem se preocupar com o fato de o padre Guillaume de Varnhem ter alugado o seu subordinado, na realidade, apenas, para tratar dos cavalos sarracenos. Para o mosteiro, os cavalos sarracenos tinham sido um bom negócio por ter garantido uma boa quantia do ouro de Saladino para os cofres de Roma, onde esse ouro estava melhor do que nos bolsos pecaminosos de Ricardo. Portanto, havia sido correto fechar pelo menos um dos olhos pelo fato do trabalho com os cavalos poder ser equiparado a outros trabalhos designados para o mesmo fim.
Como os dois estavam de acordo em tudo, era melhor passar a usar as cabeças no que estava acontecendo com as suas mãos no mundo dos sentidos terrenos do que continuar se concentrando no mundo celestial.
O irmão Guilbert assumiria maior responsabilidade no treinamento dos garotos no uso das armas, já que Arn se sentia inseguro, não apenas em relação à sua adequação como também à sua capacidade para esse tipo de trabalho. Mas depois se convenceram de que seria necessário se alternarem na liderança do trabalho de construção em Arnäs, visto que os muçulmanos, de preferência, não poderiam ser deixados a sós num país onde, segundo a lei, a morte de qualquer estrangeiro fica sempre impune. E as disputas entre eles poderiam despontar facilmente. O irmão Guilbert tinha visto até algumas escravas ficarem o tempo livre à noite rondando o acampamento dos trabalhadores em Arnäs.
Além disso, não era muito simples planejar essa necessária troca de posições e ficar afastado de Forsvik. Isto porque, durante uma daquelas longas noites de inverno, justo como Arn e Cecília tinham planejado, estando ele contando suas histórias passadas na Terra Santa, os dois já debaixo das suas cobertas e vendo o vento balançar as labaredas das tochas, de repente, ela sentiu um primeiro movimento dentro de si como se fosse um pequeno peixe abanando o rabo.
Cecília entendeu logo do que se tratava, ainda que não quisesse acreditar naquilo que ela considerava um verdadeiro milagre. Afinal, ela já estava com mais de quarenta anos e achava estar velha demais para uma tal bênção.
Arn estava no meio de uma história sobre a Terra Santa em que ele justo mandava desfraldar a bandeira com a Virgem Maria, a Grande Protetora dos templários, e ele fazia sinal com a mão para atacar. E todos os cavaleiros vestidos de branco respiraram profundamente por duas vezes e fizeram o sinal-da-cruz.
E, nesse momento, ela pegou tranqüilamente a mão dele e falou. Disse o que estava acontecendo. Ele parou de falar imediatamente, virando-se para ela e viu que o que ela disse era verdade e não um sonho ou brincadeira. Então, ele a abraçou ternamente, sussurrando que Nossa Senhora, mais uma vez, os tinha abençoado com mais um milagre.
Em Tiburius, no tempo em que os gelos começavam a derreter nos lagos da Götaland Ocidental, em que os peixes, os lúcios, brincavam e as barcaças recomeçavam suas andanças com o comércio de Eskil, entre Linkõping e Lõdõse, Arn viajou com os pedreiros para Arnäs, a fim de retomar a construção. Pelo que Cecília disse, ele ainda teria pela frente um bom mês, se quisesse voltar para ver nascer o seu filho ou filha. Cecília achava que ia ser uma filha. Arn acreditava que ia ser mais um filho. Os dois tinham combinado que se fosse um garoto Cecília escolheria o nome e se fosse uma menina, seria Arn a decidir. A construção do muro recomeçou logo de imediato e os pedreiros pareciam satisfeitos em voltar a trabalhar depois de um inverno que no início parecia para eles até agradável, mas, no final, longo demais. Eles se declararam também muito satisfeitos com as novas ferramentas fornecidas pelas ferrarias de Forsvik e com os uniformes de trabalho que todos receberam, feitos sob medida para cada um na oficina de curtume e na oficina de costura. Eles ficavam cobertos por um avental de couro desde as axilas até os joelhos e para defender os pés, Usavam tamancos de madeira com cobertura de couro grosso, iguais aos que os ferreiros usavam, se bem que neste caso a cobertura era de ferro. Muitos haviam reclamado antes que, se alguma pedra caísse em cima dos pés, causaria um grande sofrimento.
O inverno tinha prejudicado a construção do muro, mas muito menos do que Arn havia imaginado e, em breve, o verão iria secar o topo dos muros e eles iriam então poder lançar chumbo derretido em cima para tampar as frestas, tal como o irmão Guilbert havia sugerido. O que agora seria construído era o muro mais longo, desde o porto até a moradias e a aldeia. Era uma construção fácil, com apenas uma torre no meio, sendo gratificante ver como o trabalho crescia dia a dia.
A questão de qual o dia de descanso que se devia honrar ainda não tinha chegado a uma boa solução. Pelo menos, a nenhuma solução com que todos ficassem satisfeitos. Depois de longas conversas e penosas discussões em várias reuniões em Forsvik, Arn se cansou e decidiu que em Arnäs o domingo seria considerado como sexta-feira. Aos domingos, os muçulmanos não poderiam trabalhar, visto que isso seria um insulto para aqueles que moravam em Arnäs e, portanto, uma razão para brigas a respeito de quem tinha a verdadeira fé. E esse tipo de briga era a pior coisa que podia acontecer.
Como Deus é Aquele que tudo vê e tudo ouve e, além disso, Misericordioso e Clemente, Arn achava que Ele, certamente, iria perdoar Seus crentes se eles, longe, numa terra estranha, por obrigação e por um curto período da vida, fizessem do domingo, sexta-feira. Depois de algumas conversas com o médico Ibrahim, que era o mais instruído de todos os sarracenos, Arn, finalmente, conseguiu encontrar um certo apoio no Alcorão para essa nova ordem, imposta pela necessidade.
O trabalho era sempre o mesmo e os dias corriam sem muita conversa, a não ser aquela de ter de escolher a pedra entre duas que devia ser cortada para encaixar na próxima. Embora as pedras viessem da pedreira de Kinnekulle mais ou menos com o mesmo formato, elas tinham que ser limadas ou cortadas para se encaixar bem umas, nas outras, tal como Arn e os sarracenos exigiam.
O único acontecimento de que Arn se lembrava desse mês de trabalho era a ansiedade que o atormentava todo o tempo e fazia voar o pensamento para Forsvik e para a esperada criança. Um homem chamado Ardous que vinha de uma cidade de Al Khalil, em Abraham, chegou um dia e pediu para ter uma conversa particular com Arn. O seu assunto era inesperado. Queria comprar uma das escravas de Arnäs, chamada Muna. E queria saber o preço, e se o seu salário de dois besantes em ouro iria ser suficiente. Primeiro, Arn, surpreso, respondeu, dizendo que com dois besantes em ouro, pelo que ele sabia, dava até para comprar três escravas e uma vaca. Mas depois ele se controlou e perguntou severamente que espécie de estranho arranjo estava em curso e que intenções pecaminosas existiam por trás daquela pergunta.
O homem chamado Ardous assegurou que não era questão de qualquer pecado, antes sua intenção era a de se casar com a escrava.
Arn ficou em silêncio por momentos, mas depois perguntou, meio severo, meio brincalhão, diante de qual deus esse casamento seria realizado. Ardous assegurou, excitado, que apenas poderia ser realizado diante do Único e Verdadeiro e que o casamento seria oficiado pelo velho Ibrahim, já que este era não só curandeiro médico, mas também khadi.
Como Arn achava agora que estava tratando com um homem meio idiota, salientou que o Hadj Ibrahim, que conhecia cada linha do Alcorão, certamente, teria as suas objeções em casar diante Dele que tudo vê e tudo ouve um crente com uma supersticiosa ou, na melhor das hipóteses, com uma cristã.
— Mas a minha querida também é muçulmana, exatamente como eu! — objetou Ardous de olhos espantados e, com isso, silenciou o seu senhor.
Era uma resposta atrevida demais para ser mentira, achou Arn. Mas era preciso pesquisar o caso. E quanto mais cedo melhor.
Arn resolveu logo levar Ardous com ele para Arnäs e aí procuraram pela tal jovem que foram encontrar entre as lavadeiras do outro lado do fosso. Muna ficou muito confusa e olhou logo para o chão assim que viu um dos senhores de Arnäs chegar a passos largos e perguntar, como se estivesse de mau humor, qual era a fé dela. Ela respondeu, primeiro, em voz baixa que professava a fé dos seus ancestrais. Mas Arn não se satisfez com isso e pediu para ela se explicar melhor.
— Não existe outro Deus a não ser Deus e Mahmut é o seu Profeta — respondeu ela, em língua árabe bem compreensível, embora estranha.
Arn ficou aborrecido e em silêncio por longos momentos, enquanto umas vezes procurava entre as suratas do Alcorão, outras vezes se sentia humilhado diante do sinal que Deus lhe tinha enviado, a ele e aos dois amantes. Os dois, olhando em suspenso para ele, cheios de medo diante da esperada decisão.
— Em nome de Deus, Todo-Misericordioso e Clemente — disse Arn, finalmente, depois de ter achado o que procurava. E para Sua honra, diz-se que Ele criou as esposas para você, e a partir da você, para que possa encontrar a tranqüilidade com elas e Ele deixou que o amor e a ternura crescessem entre vocês. E nisso está uma sábia mensagem para as pessoas que pensam.
Talvez Muna não tivesse entendido direito todas as palavras na linguagem dos seus ancestrais, já que ela nunca mais tinha ouvido as palavras do Alcorão desde que era criança e ainda não tinha sido separada do seu pai. Mas, sábia como ela só, viu pela expressão de rosto do seu amado Ardous que o Senhor Arn os tinha abençoado.
Era impossível dizer qual dos três estava mais emocionado com essas palavras do Alcorão. Isto porque Arn foi tocado do mesmo jeito que Ardous e Muna, sentindo uma grande saudade de casa e de Cecília.
Para pelo menos sossegar a sua curiosidade, Arn perguntou a Muna se sabia de onde ela ou o seu pai tinham vindo. Muna não sabia muito a esse respeito, mas respondeu, dizendo que a sua mãe e o seu pai foram levados para a Noruega como prisioneiros e que foi na Noruega que ela nasceu. Mais tarde, quando uma senhora se casou com um folkeano na Götaland Ocidental, ela e sua mãe foram mandadas como presentes de casamento da noiva enquanto o seu pai continuou ficando no burgo norueguês.
Arn não quis retê-la por mais tempo, nesse momento que para Muna era de grande alegria a conter. E de tristeza na vida era, certamente, a última coisa de que gostaria de falar. E Arn prometeu aos dois que conseguiriam o que queriam, já que Deus os juntou de um jeito maravilhoso. Nada de se falar, porém, em Ardous comprar a sua amada. Não precisava, já que isso iria contrariar a Deus que os abençoou. No próximo inverno, Muna mudaria para Forsvik e, então, se realizaria o casamento entre os crentes muçulmanos, já que esse seria o único lugar no reino onde um tal casamento poderia ser realizado. Até lá, eles precisavam ter paciência.
Deixando a timidez de lado, de repente, os dois se abraçaram diante das outras lavadeiras que não tinham entendido uma palavra sequer do que foi dito, mas que agora não paravam de trocar segredinhos e de soltar gargalhadas.
Depois do milagre da premiação do amor para Ardous e Muna, Arn começou a contar os dias e os momentos que faltavam para voltar a Forsvik. Não podia viajar antes de o irmão Guilbert chegar e isso aconteceu um dia depois do previsto. Foi um dia muito longo para Arn. Tudo, porém, estava bem com Cecília e nada de mal tinha acontecido em Forsvik, ficou ele sabendo. O tempo de Cecília estava próximo, mas segundo disseram as mulheres que sabiam disso melhor, ele iria chegar a tempo, sem problemas.
Arn se despediu rapidamente de seus parentes e trabalhadores. Naquele dia achou que nunca o barco tinha velejado tão lentamente e, ao passar a noite em Askeberga, chegou a pensar em montar num cavalo e viajar durante a noite, agora mais clara, de primavera, mas desistiu ao ver que só havia na cocheira cavalos de carga e de passeio.
Pouco tempo depois, na época em que os animais eram soltos nos prados cuja visão na Götaland Ocidental nunca se esquece, Cecília Algotsdotter deu à luz em Forsvik uma menina bem formada. Depois, «ouve festa durante três dias em que ninguém trabalhou, nem mesmo nas forjas. Todos os homens e mulheres livres de Forsvik participaram com igual alegria, visto que a bênção sobre a casa tinha sido grande e estendida para todos.
Arn decidiu que a menina devia chamar-se Alde, um nome estrangeiro, tirado de uma das suas sagas, mas também um nome bonito, achou Cecília, enquanto ensaiava em silêncio o nome dela e ao mesmo tempo tentava adormecê-la no seu peito, Alde Arnsdotter.
Foi o tempo mais feliz para Arn e Cecília desde que começaram sua nova vida. Assim, eles recordariam esse tempo para sempre. E esse verão, em que Arn cavalgou, alegremente, como papai orgulhoso, com a sua filha nos braços, tanto quanto cavalgou com aqueles que se tornariam cavaleiros, esse verão não parecia presente pelas nuvens escuras que se viam lá longe onde o céu e a terra se uniam no sudoeste.
Para além da morte, nada existia que metesse medo a Arn. Era como se ele tivesse se habituado a isso. Ou como se ele tivesse visto demais durante os vinte anos nos campos de batalha da Terra Santa onde ele, certamente, tinha matado mais de mil homens com as suas próprias mãos e visto morrer muitos milhares bem ao seu lado. Um mau comandante, ou simplesmente pretensioso, levantava o braço e mandava no momento seguinte um esquadrão inteiro de dezesseis homens contra uma força perseguidora muito superior. Eles partiam sem hesitar, com os seus mantos brancos esvoaçando atrás de si e, depois, ninguém os via nunca mais. Para consolação, sabia-se apenas que da próxima vez a gente encontraria esses irmãos no Paraíso. Qualquer templário jamais precisava temer a morte, já que a escolha existia apenas entre a vitória e o Paraíso.
Mas a história era outra, quando se tratava da morte lenta, atrofiante e malcheirosa no mucos e na própria merda. Durante três longos anos, o amigo Knut se arrastou na vida, cada vez mais magro, até que, finalmente, era apenas pele e osso. Assim que Yussuf e Ibrahim olharam para ele, apenas sacudiram a cabeça e disseram que o tumor que consumia o corpo do rei por dentro e a partir do estômago apenas iria aumentar até que acabaria com toda a sua vida.
No momento, ele estava deitado na cama no seu lar da infância ern Eriksberg, e seus braços e pernas eram tão finos que pareciam ramos de aveleira. Por baixo das cobertas despontava o tumor como Uma elevação na altura do estômago, o que, de uma maneira cruel, fazia lembrar o ventre de uma mulher grávida. Ele tinha perdido todo o cabelo, até mesmo as pestanas e as sobrancelhas, e na boca apareciam grandes buracos negros no lugar dos dentes perdidos. O mau cheiro enchia todo o quarto.
Arn tinha chegado sozinho a Eriksberg, já que continuava teimando em cavalgar sem a companhia de escudeiros. E de maneira diferente em relação a todos os que visitavam o rei no seu leito de morte, ele conseguia permanecer por horas dentro do quarto, sem se incomodar com o mau cheiro ou até mesmo reconhecer pela mínima expressão do rosto a sua existência.
A cabeça do rei continuava lúcida. O tumor consumia o seu corpo, mas não a sua inteligência. Que Arn era aquele com quem ele preferia falar, não era difícil de entender para Arn, mas, sim, para os muitos outros que aguardavam a sua vez em Eriksberg. Com Arn, o rei moribundo podia falar a respeito do Inescrutável e do Julgamento Final, assim como podia falar com o arcebispo Petrus, com a diferença de que em Arn ele não via expectativa e impaciência ao mesmo tempo. Para o arcebispo, seria uma bênção de Deus se o rei Knut, finalmente, morresse, visto que isso apressaria a nova ordem pela qual o arcebispo tinha rezado tantas e tão sinceras orações. Segundo o rei Knut pôde entender, Sverker Karlsson da Dinamarca já tinha começado a fazer as malas para a viagem. Portanto, na realidade, não servia de muito ficar ali deitado e continuar lutando.
Grande parte da sua vida, Knut tinha vivido em Näs, no lago Vättern, permanentemente rodeado de altos muros de pedra e de sentinelas para não morrer do mesmo jeito que morreram muitos outros reis e aquele que ele próprio assassinou. Agora que a morte estava lá fora na sala de espera com a sua ampulheta em que a areia em breve iria desaparecer, já não existia praticamente nenhum homem armado e nenhuma precaução com a defesa do soberano. O burgo de Eriksberg era agora um grande burgo normal sem muros, nem mesmo caibros afiados de madeira, para sua defesa. E a igreja que o abençoado Santo Erik tinha começado a construir também não significava muito em termos de defesa. Aliás, também não era preciso. Ninguém iria chegar para matar quem já estava com um pé na cova.
— Afinal, não é justo — dizia o rei Knut, com a voz fraca e, pelo menos, pela sétima vez, diante de Arnm, sentado pelo segundo dia, junto da sua cama. — Eu podia ter vivido por mais vinte anos. E, no entanto, vou ter que me juntar já aos meus antepassados e, além disso, sofrer uma morte nada honrosa. Por que razão Deus quer me punir? Seria eu um canalha pior do que os outros? Pense apenas em Karl Sverkersson que esse tal de arcebispo Petter assegura ser a razão dos meus sofrimentos. E ele, então? Ele, que mandou matar o meu pai, o abençoado Santo Erik! Não é o assassinato de um santo o pior crime de todos?
— Claro. Sem dúvida, isso é um grande pecado — disse Arn, com um sorriso quase indecente. — Mas, se pensar bem, você vai entender que está reclamando da coisa errada. Há quanto tempo Karl Sverkersson já era rei quando nós o assassinamos? Seis ou sete anos? Eu não me lembro, mas jovem ele era. E você já é rei há cinco vezes mais tempo do que ele. A sua vida podia ter sido muito mais sofrida e muito mais curta. Por isso, você deve se reconciliar e se redimir diante da morte e agradecer a Deus pela graça que Ele, mesmo assim, lhe deu.
— Será que devo agradecer mesmo a Deus? Agora? Aqui estou eu, deitado em cima da minha própria merda e morrendo pior do que um cachorro. Como é que você, que é o meu único amigo de verdade, repito, o meu único amigo de verdade, basta olhar em volta, quem mais está aqui... Ah, sim, onde é que eu estava? Ah, como é que você pode dizer que devo agradecer a Deus?
— Neste momento, de qualquer forma, seria mais inteligente do que blasfemar — respondeu Arn, secamente. — Mas, se realmente você quer uma resposta, eu a darei. Você vai morrer em breve, é verdade. Eu sou seu amigo, também é verdade. E a nossa amizade já vem de longe...
—— Mas você! — interrompeu o rei, apontando com o dedo, tão magro que mais parecia a garra de uma ave. — Como é que você pode estar aí, passando bem e lépido? Não será o seu pecado tão grande quanto o meu no que diz respeito ao assassinato do assassino do meu pai?
— É possível — disse Arn. — Quando fui para a Terra Santa, eu tinha dois pecados no meu saco de viagem. Grandes eram esses pecados, apesar de eu ser ainda muito jovem. Sem estar ainda abençoado pelo casamento, tive uma ligação carnal com a minha amada e, antes disso, tive relações com a sua irmã Katarina. E tinha participado no assassinato de um rei. Mas esses pecados foram absolvidos por uma penitência de vinte anos com o manto branco dos templários. Você pode achar que é injusto, mas é assim que as coisas ocorreram.
— Como eu gostaria de ter trocado com você, nesse caso! — sibi-lou o rei.
— É um pouco tarde para pensar nisso — respondeu Arn, abanando a cabeça, sorridente. — Mas se você calar a boca por alguns momentos, vou tentar dizer o que penso. O pecado que o rei Karl Sverkersson cometeu quando ele, de uma maneira ou de outra, esteve por trás do assassinato do seu pai, o abençoado Santo Erik, ele pagou bastante rápido por isso. Agora, no seu caso. Você assassinou e pagou, mas não totalmente. Você manteve a paz no reino, por mais tempo do que qualquer outro rei de que eu tenha ouvido falar. E isso vai ser contado a seu favor no reino dos céus. Você teve quatro filhos e uma filha, uma esposa muito agradável em Cecília Blanka, mais do que isso, diga-se de passagem, porque nela você teve uma rainha que lhe fez muitas honras. Você fortaleceu o poder da Igreja no reino, com o que, de momento, não está muito satisfeito em ter feito, mas até isso vai contar a seu favor. Se considerarmos tudo isso, você não viveu uma vida ruim, nem foi assim tão mal recompensado. Entretanto, continua a existir uma dívida a pagar por seus pecados e é melhor pagar agora do que no Purgatório. Portanto, não reclame tanto. E morra como um homem, meu querido amigo!
— O que é Purga... Isso que você disse? — perguntou o rei Knut, resignado.
— Purgatório, o Inferno. É lá que os pecados são queimados e retirados da sua alma, com ferro incandescente. E, então, poderia ser ? a hora de se arrepender.
— Será que um templário me pode dar a absolvição? Vocês, templários, são uma espécie de monges, certo? — perguntou o rei, com um repentino fulgor de esperança nos olhos.
— Não — respondeu Arn, direto. — Você, ao se confessar pela última vez, diante do arcebispo Petrus, vai receber a absolvição por todos os seus pecados. E como está tão satisfeito com a sua morte, não me admiraria nada se não demonstrasse toda a sua máxima boa vontade nesse momento.
— Esse Petter é apenas um traidor. Se eu não estivesse morrendo, ele, certamente, gostaria de me matar! — sibilou o rei Knut, gaguejando e tossindo. — E ele, além disso, se estiver de mau humor, junto do meu leito de morte, vai me recusar a absolvição e aí vou ficar sem poder fazer nada, como uma criança enganada. E o que isso me vai custar no Inferno?
— Nada — disse Arn, tranqüilamente. — Pense bem no que vou dizer. Deus é maior do que todo o resto. Ele vê tudo e ouve tudo. Ele está conosco, agora. A sua disposição é importante. Se o arcebispo Petrus o decepcionar, é ele que vai ter de pagar por isso. Mas você precisa ter fé em Deus.
— Quero um padre que me dê absolvição dos pecadores. E não confio nesse tal Petrus — murmurou o rei.
— Agora você está sendo teimoso que nem uma criança. E isso não está de acordo com a sua posição e dignidade — disse Arn. — Se você acredita que pode agüentar mais dois dias de vida, posso ir buscar o padre Guillaume, de Varnhem. Ele poderá lhe dar a extrema-unção, escutar a sua confissão e lhe dar a absolvição. Afinal, você vai ter a sua última morada em Varnhem. E isso não acontecerá sem uma prata ou outra, com a sua efígie em pagamento. Se você quiser, vou buscar o padre Guillaume, mas como disse você terá de prometer ficar aqui conosco mais alguns dias.
— Isso eu não posso prometer, não me sinto em condições — disse o rei.
-— Então, voltamos àquilo que realmente pode salvar a sua alma. Você precisa confiar em Deus — disse Arn. — Esse é o seu momento de se dirigir a Deus, nosso Pai. Você é um rei no leito de morte e Ele vai escutar suas palavras. Você não precisa tomar um atalho através de qualquer santo ou de Sua Mãe, Nossa Senhora. Confie em Deus, apenas Nele.
O rei Knut ficou em silêncio por momentos, examinando o que Arn tinha falado. Para seu espanto, ele encontrou realmente consolação. Fechou os olhos e cruzou as mãos e elevou ao Senhor uma prece silenciosa. Achou que era uma derradeira tentativa, tal como a atitude de um afogado se agarrando a um último fio de palha. Mas não custava nada tentar. Primeiro, ele não sentiu nada além dos seus próprios pensamentos, mas, depois de alguns momentos, foi como se uma corrente quente de esperança e de confiança percorresse o seu corpo. Era como se Deus, embora por meios muito frágeis, que talvez ele não merecesse melhor, correspondesse, tocando o corpo dele com o Seu Espírito.
— Estou sentindo pena demais de mim mesmo! — disse ele, ao abrir, de repente, os olhos, voltando-se de novo para Arn. — Entrego a minha alma a Deus e com isso basta por meu lado. Agora, em relação aos meus filhos. Você jura que está entre aqueles que vão fazer de Erik, o conde, o próximo rei depois do dinamarquês?
— Sim, estou entre eles — disse Arn. — Se Birger Brosa ainda não lhe disse tudo, eu vou dizer. Nós temos um acordo feito com aquele que você chama de dinamarquês, Sverker Karlsson. Ele não tem nenhum filho. Depois dele, Erik, seu primogênito, será o rei. Depois de Erik, vêm os seus irmãos, primeiro Jon, depois Joar e, em seguida, Knut. Sobre isso, Sverker vai jurar antes de receber a coroa, mas ele não será coroado. Não é Deus que está dando a ele a coroa. Somos nós, homens livres das províncias Götalands e de Svealand. Se ele fizer esse juramento, nós, então, juraremos fidelidade a ele, enquanto ele cumprir a sua palavra. É assim que vai ser.
— E se isso acontecer desse jeito, isso é bom ou é mau? — perguntou o rei de dentes cerrados, visto que o tumor o tinha golpeado com mais uma dor violenta. — Eu vou morrer. Você é o único que fala honestamente comigo. Diga-me como vai ser, meu caro Arn.
— Se todos cumprirem a sua palavra, é um bom acordo — respondeu Arn. — Então, Erik, o conde, será rei, mais ou menos, na mesma época em que assumiria a coroa se você vivesse uma vida longa, tanto quanto meu pai ou meu tio Birger Brosa. O que vamos pagar é a humilhação de ter de obedecer durante um certo tempo aos mantos vermelhos. O que vamos ganhar é a salvação do reino de uma guerra mortal que apenas com muitas dificuldades e por um preço alto em mortos e incêndios poderíamos vencer. Por isso, o acordo é bom.
— Você vai participar do conselho real?
— Não, Birger Brosa jurou que eu só entraria nesse conselho por cima do seu cadáver.
— Mas pensei que vocês já tinham se reconciliado.
— Estamos reconciliados, sim. Mas eu não me encaixaria bem num conselho real dinamarquês.
— Como assim? Eu próprio senti a sua falta no conselho. Melhor marechal do que você nenhum soberano no nosso reino teve até agora.
— É justamente aí que está o ponto — sorriu Arn, cheio de mistérios. — A esse respeito, Birger Brosa e eu estamos em completo acordo e falamos mais de uma vez sobre o assunto. Se eu ficasse no conselho do rei Sverker como seu marechal, além disso amarrado perante o soberano por um juramento, talvez isso provocasse mais prejuízos do que favorecimentos à nossa causa. No momento, Birger Brosa e eu fingimos que a nossa inimizade permanece e eu fico em Forsvik onde continuo construindo e desenvolvendo o poder dos eri-kianos e folkeanos.
O rei Knut pensou longamente no que acabara de ouvir e achou que era tão astuto quanto se poderia esperar de Birger Brosa. E, mais uma vez, sentiu uma corrente quente dentro de si como se Deus quisesse fazer lembrar a Sua existência com um leve toque.
— Você quer jurar perante mim e Erik que será o seu marechal e de ninguém? — perguntou ele, após seu longo tempo de reflexão.
-— Sim, mas temos de ser prudentes com as palavras — respondeu cautelosamente. — Pense que vou ter de jurar fidelidade ao dinamarquês como todos os outros. Mas essa palavra vai valer apenas enquanto ele cumprir a sua palavra. Se ele quebrar o seu compromisso, vai haver guerra. E nessa guerra serei o marechal de Erik Knutsson, isso eu juro perante vocês dois.
Para Arn, ele não tinha prometido nada que já não fosse claro e pressuposto. Mas como o moribundo Knut parecia acreditar que havia algo a mais nesse juramento, mandou chamar o seu filho Erik, pegou as mãos dos dois, apertou-as contra o seu coração doente e fez repetir reciprocamente o mesmo juramento. Erik, o conde, tinha dificuldade em tolerar o mau cheiro do seu pai e seus olhos se encheram de lágrimas de tristeza e de repugnância enquanto empenhava a sua palavra perante Arn. Pela primeira vez, Arn viu algo em Erik, o conde, de que não gostou, isto é, a sua incapacidade de se portar com dignidade diante do leito de morte do seu pai. Mas ele jurou obedientemente que faria o seu melhor, empenhando a sua vida, a sua espada e a sua inteligência para salvar a coroa do reino para Erik, o conde, a partir do momento que Sverker Karlsson não cumprisse com a sua palavra, diante das assembléias dos gotas e dos sveas e do conselho real.
O rei Knut Eriksson, filho do abençoado Santo Erik que seria o santo protetor do novo reino para toda a eternidade, morreu tranqüilamente no burgo do seu pai, Eriksberg, no ano da graça de 1196. Foi sepultado no mosteiro de Varnhem como o primeiro de todos os erikianos. Não foi grande o séquito que o acompanhou até a última morada, dado que foi um rei que perdeu o poder vários anos antes da sua morte. Mas seu lugar de descanso ficou célebre, bem junto da fundadora e doadora do mosteiro, a senhora Sigrid, mãe de Arn e de Eskil.
Muitas orações foram feitas em Varnhem pela paz da alma do rei Knut, visto que as doações do soberano para o mosteiro não tinham sido poucas, tendo sido assumido o compromisso de que essa igreja serviria de sepultura tanto para erikianos quanto para folkeanos. Birger Brosa falou isso, que ali a união entre as três coroas e o leão seria mantida por toda a eternidade.
A seu tempo, portanto, os amigos Knut Eriksson e Arn Magnusson ficariam descansando perto um do outro.
Nos cais de Forsvik, aquele para os barcos maiores do Vättern e o que servia para as barcaças fluviais, do outro lado, junto da praia de Viken, havia tanta gente em permanente movimento que demorava pelo menos um dia para se encontrar e apanhar os vagabundos. Isto porque, em especial, os jovens vagabundos, garotos com mochila nas costas, fugidos de casa com grandes sonhos, chegavam com freqüência a Forsvik. O rumor de tudo de maravilhoso que ali se encontrava para futuros homens, tinha se espalhado através de caminhos estranhos por quintas e burgos de todo o país. Muitos se sentiam chamados, mas poucos eram os escolhidos.
Em regra, os pequenos vagabundos eram rapidamente apanhados e colocados nos barcos de volta para os mesmos lugares de onde tinham vindo. O capataz Gure costumava até jogar uma moeda de prata para o timoneiro como paga pela inconveniência.
Sigge e Orm tinham, respectivamente, doze e treze anos quando chegaram a Forsvik, dessa maneira, justo na época do funeral do rei Knut em Varnhem. Que o rei estava para morrer, isso eles já sabiam há mais ou menos um ano, mas nenhum deles fazia idéia de que estavam chegando no momento em que o rei tinha morrido de verdade. Por motivo do funeral em Varnhem, no entanto, não havia nem senhor nem senhora em Forsvik. Os donos estavam longe.
A despeito do que Sigge e Orm tivessem imaginado como seria chegar a Forsvik dos seus sonhos e procurar pelo senhor Arn, todos os seus planos ficaram arrasados, de imediato, por tudo o que viram. talvez tivessem imaginado um grande casarão, com cabeças de dragões entalhadas no madeirame dos telhados, e o cavaleiro Arn cavalgando na praça com a sua espada balançando no espaço com rapidez infinita, rodeado de jovens e de garotos, tentando fazer como ele. Afinal, o que viram foi uma aldeia com quatro ruas, uma multidão de Pessoas que pareciam correr atrás umas das outras, cheias de pressa, e um zumbido de línguas estranhas.
Para seu consolo, vieram encontrar muitos jovens da sua idade, vestidos com roupas iguais às suas, de tecidos cinzentos feitos em casa. Mas por toda parte viram também homens jovens, alguns tão jovens quanto eles, armados, vestindo coletes de aço e túnicas azuis como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Pelo caminho da rua larga da aldeia, eles pararam primeiro perto de uma casa sem paredes, mas com telhado, em que pelo menos duas dúzias de garotos treinavam com suas espadas e escudos, enquanto outros mais velhos os corrigiam e os obrigavam a repetir os exercícios uma vez atrás da outra.
Mais à frente, um pouco além do fim da rua, havia um grande campo cercado por estacas e madeiras e lá dentro rodavam os cascos de cavalos emitindo sons surdos ao bater no chão. Em breve, Sigge e Orm já tinham subido na cerca e viam como num sonho os jovens cavalgando em velocidades incríveis e manobrando segundo ordens de homens mais velhos. E todos os que estavam a cavalo, portavam as suas armas como se fosse dia de festa do dono ou estivessem em guerra. Então, ficaram sabendo que era verdade, podia-se aprender cavalaria em Forsvik.
Ficaram sentados por bastante tempo no seu posto de observação como todos os pequenos vagabundos. E, depois do que poderiam ter sido horas ou tempo nenhum no que se relacionava com Sigge e Orm, os cavaleiros no campo interromperam os seus exercícios, formaram em linha, uma longa linha, e trotaram na direção da rua larga da aldeia. Foi então que eles foram descobertos e apanhados pelo pescoço por um homem novo que desceu do seu cavalo e sem qualquer contemplação começou a caminhada, com eles bem agarrados, de volta na direção dos cais.
Mas o pequeno Sigge ficou zangado e disse sem a menor timidez que ele e o seu irmão não pensavam, evidentemente, em voltar de barco tão depressa, já que ambos tinham a palavra do senhor Arn de que podiam vir para Forsvik.
Primeiro, seu algoz riu das palavras atrevidas, mas Sigge não desistiu, antes resistiu, zangado, os calcanhares firmes no chão, sendo arrastado e insistia, dizendo que ele próprio e o seu irmão podiam jurar diante de Deus e de todos os santos, ter recebido do próprio senhor Arn o convite para vir. O seu guarda ficou, então, mais pensativo, visto estar habituado a ver os pequenos vagabundos presos se portarem mais humildes do que atrevidos. Subiu novamente no cavalo, disse para Sigge e Orm não se mexerem do lugar e galopou para a frente dos cavaleiros onde parou diante de um homem que vestia o manto azul folkeano e era um dos que exerciam o comando no campo.
Logo o folkeano chegou em alta velocidade, com o guarda que tinha encontrado e prendido Sigge e Orm. Ele desceu do cavalo de um salto só, estendeu as rédeas para o outro cavaleiro, avançou e pegou os dois pelo cachaço que assim ficaram novamente imobilizados e desta vez por punhos revestidos de luvas de aço.
— Forsvik é para folkeanos e não para filhos de escravos fugitivos! — disse ele, severo, olhando para eles, duramente. — Como se chamam e de onde vêm?
— Eu me chamo Sigge e sou filho de Gurmund, de Askeberga. E ao meu lado está o meu irmão, Orm — respondeu Sigge, zangado e reclamando da pegada dura no pescoço. — E você, como se chama?
Surpreso, o folkeano afrouxou a sua pegada, visto que ele, assim como o primeiro cavaleiro que prendeu os dois, não estavam preparados para um tal atrevimento tão aberto e franco.
— Eu me chamo Bengt Elinsson e sou um dos que, na falta do senhor Arn, exercem o comando aqui em Forsvik — respondeu ele, já não tão severo, enquanto, pensativamente, observava os dois vagabundos. — Gurmund de Askeberga eu já encontrei antes. Aliás, todos nós que temos assuntos a resolver entre Forsvik e Arnäs. — Gurmund é um liberto, não é verdade?
— O nosso pai é um homem livre, e nós nascemos livres — respondeu Sigge.
— Melhor assim. Deixamos de ter a preocupação de mandar vocês de volta de mãos e pernas atadas. Mas fugidos de casa, isso vocês estão, certo?
Isso era totalmente verdadeiro. Eles tinham fugido, depois que seu pai, Gurmund, se recusou a ouvir seus pedidos, pedindo para mudar para a casa do senhor Arn, em Forsvik. E, quando insistiram, ele os castigou e, finalmente, os castigou tanto que eles fugiram, tanto por esse motivo quanto pelo sonho de conseguirem os mantos e as espadas. Sigge não foi capaz de dizer alguma coisa sobre essa vergonha, antes acenou com a cabeça confirmando.
— O vosso pai bateu em vocês, isso se nota bem demais e não contribui em nada para a honra dele — disse Bengt Elinsson, num tom de voz totalmente novo e nada severo. — Como a gente se sente nessa idade, eu sei muito bem. E acreditem que agora não vão ser mais molestados por mim. Mas vocês não são folkeanos e, portanto, não existe lugar para vocês aqui em Forsvik, pelo menos, não o lugar em que vocês estão pensando. Precisam voltar para casa. Mas vou mandar uma mensagem para Gurmund, para que ele não se atreva a levantar a mão novamente contra vocês, a não ser que queira enfrentar e bater em Bengt Elinsson da próxima vez.
— Mas nós temos a palavra do senhor Arn — insistiu Sigge, cautelosamente. — E o senhor Arn é um homem que cumpre com a sua palavra.
— Bom, a esse respeito você tem razão — respondeu Bengt Elinsson, enquanto com dificuldade continha uma gargalhada atrás da mão. — Mas quando e onde o senhor Arn fez a vocês, filhos de um liberto, uma promessa tão grande?
— Há cinco anos — respondeu Sigge, destemido. — Ele falou conosco na praça e nos mostrou uma espada tão afiada que o sangue apareceu no meu dedo só de passar a mão pelo fio dela. E, então, ele disse para o procurarmos dentro de cinco anos, e os cinco anos já se passaram agora.
— E como era essa espada dele? — perguntou Bengt Elinsson, de repente, falando sério. — E como o senhor Arn se parecia?
— A espada era mais comprida do que as outras, com uma cruz de ouro. E refletia a luz como um espelho. E tinha um sinal mágico» rúnico, em ouro — respondeu Sigge, como se a sua memória fosse totalmente fresca. — E o senhor Arn tinha uns olhos muito ternos, mas um rosto com muitas marcas de golpes e batidas.
— No momento, o senhor Arn está presente ao funeral do rei e não estará de volta antes de alguns dias ou talvez uma semana — disse Bengt Elinsson, de uma maneira completamente nova e amistosa. — Durante esse tempo, vocês vão ficar aqui como nossos convidados em Forsvik. Sigam-me!
Sigge e Orm, que nunca na sua vida tinham sido tratados como convidados e que também não entendiam o que levou o poderoso folkeano, de repente, a mudar de atitude, ficaram, literalmente, no mesmo lugar, sem dar um passo. Bengt Elinsson resolveu colocar os braços por cima dos seus ombros magros e levá-los na direção do cais.
Eles foram entregues a um homem louro e forte, que se chamava Gure e que trabalhava na construção de uma casa. Ele, por sua vez, seguiu com eles até uma fila de casas menores de onde se escutava muito barulho da ferraria e da serraria. Em uma das casas, já se encontravam quatro garotos na idade deles e dois homens de mais idade, sentados ao longo de uma mesa produzindo flechas. Havia muitas pontas de flechas de vários tipos no centro da mesa entre gamelas com piche, penas de ganso, fios de linho e facas de vários formatos. Gure explicou que os convidados tão jovens quanto eles em Forsvik não só tinham direito a comer pão doce como também ajudavam e se faziam úteis. Uma parte da produção de flechas era muito simples e era aí que eles poderiam começar, mas era bom que dois dos outros garotos dessem uma volta com eles e lhes mostrassem Forsvik para aprenderem a encontrar os lugares certos e, em especial, onde dormir e comer. Ele apontou para dois garotos da mesma idade, sentados à mesa. Estes se levantaram de imediato e fizeram uma vênia para ele como sinal de que tinham entendido e iriam obedecer. E, depois, Gure foi embora sem dizer mais palavra.
Os dois que deviam mostrar Forsvik a Sigge e Orm chamavam-se e Toke, e ambos tinham o cabelo cortado bem curto, tal como o que era uma maneira normal de cortar o cabelo dos jovens escravos para fins de troca. Por isso, Sigge chegou à conclusão de que os outros dois não eram livres e, por isso, ele era superior. E tentou dar voz de comando. Era para eles pararem de ficar olhando e, em vez disso, fazerem o que lhes foi dito. Aquele que parecia o mais velho e o mais forte dos dois respondeu de imediato que era para ele ficar de boca fechada e refletir. Era novo em Forsvik e não iria ficar bem se tentasse representar o papel de importante.
Por isso, a conversa se desenrolou com dificuldade de início entre os quatro rapazes quando os dois forsvikarianos iniciaram a volta para mostrar o que valia a pena ver. Começaram pelas ferrarias que eram três, bem juntas umas das outras, mas logo receberam uma reprimenda para não correrem na frente e sofrerem algum acidente. Mas continuaram depois através da vidraria onde estavam em longas filas pequenos copos de um azul reluzente e vermelho-claro e onde os velhos mestres tinham ao seu lado quatro ou cinco garotos aprendizes. Dentro de um forno estava uma grande massa incandescente e, então, tanto o mestre quanto os aprendizes estenderam os seus tubos, pegando um pouco dessa massa no tubo e começando a rolar, a rolar, até que correram para umas formas de madeiras que molharam com água, para depois ficar rolando e soprando no tubo, ao mesmo tempo. Parecia um trabalho muito difícil, mas a grande quantidade de vidros prontos que estavam nas prateleiras junto das paredes indicavam que eles eram bem-sucedidos e chegavam à forma correta. O calor lá dentro empurrou-os logo para a oficina de selas onde se faziam não só todos os arranjos para cavalos como também vários artefatos em couro. Passaram depois pela tecelagem onde os que lá trabalhavam eram, na maior parte, mulheres de todas as idades, pela oficina de costura e duas outras oficinas onde o trabalho fazia lembrar a fabricação de flechas, mas, na realidade, a produção em que todos trabalhavam era de bestas, sob a instrução de dois mestres estrangeiros cuja linguagem era impossível de entender para Sigge e Orm.
Depois das oficinas, seguiram por uma ponte e chegaram a uma área onde havia casas muito maiores que, para pavor de Sigge e Orn deixavam passar as águas de um córrego por baixo do chão. Quando aquele que se chamava Toke levantou uma tampa no chão só se via a espuma das águas correndo lá embaixo. Havia duas rodas de moinhos girando pesada e lentamente, rangendo e chiando, mas com bastante poder para moer calcário e grãos. Havia serras giratórias entrando firmes em grandes troncos de madeira, rangendo e estalando, nas serrarias. E junto de pedras de afiar estava mais gente amolando e limpando as espadas e dando forma afiada às lanças e ainda produzindo outras coisas que Sigge e Orm não entenderam para que serviam. Barricas com sementes estavam entrando e outras, com farinha, recebiam tampos e saíam para os cais.
Os olhos de espanto de Sigge e Orm fizeram com que os outros dois rapazes passassem a tratá-los melhor, e ao saírem do canal das oficinas, passando de novo pela ponte para visitar as cavalariças e as salas de exercícios para guerreiros, a conversa entre os quatro passou a correr com mais facilidade. Luke contou que ele e o seu irmão Toke tinham sido libertados ainda crianças, pois tinham nascido em Forsvik como escravos. Mas agora não havia mais escravos em Fors-vik. E também não se trabalhava mais a terra à volta de Forsvik a não ser para a produção de forragem para cavalos e outros animais. Por isso, muita coisa tinha mudado nas suas vidas e não apenas por causa da liberdade conquistada. Isto porque se tudo fosse como antes, a maioria continuaria a trabalhar na terra. Mas em vez disso, agora, todos os jovens iam aprender nas oficinas, o que era um pequeno paraíso comparado com trabalhar a vida inteira no campo.
Sigge e Orm achavam difícil de entender como é que um grande burgo como aquele, com tantas bocas para alimentar, podia deixar de cultivar a terra, mas Luke e Toke apenas riram disso e relembraram o que tinham visto antes nos moinhos, com todas aquelas barricas de grãos. Todos os dias chegavam pelo rio e pelo lago barricas cheias de grãos para moer nos moinhos de Forsvik, e todos os dias, também, saía quase a mesma quantidade de barricas cheias de farinha. Forsvik ficava com uma em cada oito barricas de grãos, o que era mais do que suficiente para pessoas e cavalos que comiam muita aveia durante o inverno e não apenas feno. Por isso, não havia razão para desperdiçar suor e força se arrastando pelos prados, quando, na realidade, se conseguia mais pão não semeando pão.
Para Sigge e Orm, essa novidade parecia quase impossível de entender. Era como se fosse magia ouvir dizer que se conseguia mais grãos deixando de os cultivar.
As duas enormes construções que serviam de cavalariças estavam quase vazias, visto que os cavalos, na sua maioria, continuavam nos pastos enquanto houvesse capim. Mas aqui e ali encontrava-se algum cavalo olhando desconfiado enquanto eles passavam, mas das paredes, em longas filas, pendiam selas e armas. Eram as armas dos jovens senhores e nelas ninguém podia tocar, desde que chegavam das oficinas.
Os jovens senhores, que vinham dos burgos folkeanos de perto e de longe, ficavam aprendendo durante cinco anos. Todos os anos, chegavam novos jovens pequenos e inquietos. E nos últimos anos, alguns começavam a voltar para casa, autoconfiantes e perigosos com a lança ou a espada. Os jovens senhores ficavam alojados na sua própria casa-grande que era a maior de Forsvik. E lá o pessoal normal não podia entrar, mas, segundo Toke, havia mais de sessenta camas.
Ao lado da casa-grande dos jovens senhores ficava a casa dos estrangeiros, onde também não era aconselhável entrar. E, depois, vinha a casa do senhor Arn e da senhora Cecília. Do lado de fora da casa, havia um pequeno jardim de rosas brancas e vermelhas e na encosta, na direção do lago, havia filas de macieiras cujos frutos, em breve, seriam colhidos, além de um quintal com todos os tipos de raízes e de temperos.
No meio do burgo, acima da casa do senhor Arn, existia uma espécie de palheiro sem paredes onde os jovens senhores treinavam com a espada e o escudo, mesmo no inverno. E do outro lado, havia uma série de casas menores nas quais uma parte dos estrangeiros mais conceituados vivia em separado.
Os quatro jovens voltaram de novo na direção das oficinas, chegando àquilo que foi antes a velha casa-grande de Forsvik, onde os antigos donos, antes de Arn e Cecília, moravam. Agora, quem morava lá era a maioria dos libertos e era lá que comiam todos os libertos e os jovens senhores por turnos, visto que não dava para todos comerem ao mesmo tempo. Para eles, garotos, ainda ia demorar muitas horas, pois aqueles que tinham o trabalho mais leve eram os que comiam por último.
Depois da velha casa-grande, estavam localizadas as despensas construídas com tijolos onde as carnes ficavam penduradas e refrigeradas durante o verão e congeladas durante o inverno. Lá dentro era escuro e fazia frio, havendo grandes e longos pedaços de gelo, derretendo no chão. A água derretida seguia por calhas para fora da despensa. Como é que podia existir gelo tão cedo no outono, e ainda por cima gelo tão grosso, era outra coisa que Sigge e Orm não podiam entender. Foram levados, então, para a casa do gelo, localizada perto das despensas de carnes. Rodeados e misturados com serragem, os grandes blocos de gelo tinham sido retirados do lago no inverno anterior e tinham-se conservado sem derreter totalmente. Na primavera, enchia-se a casa de alto a baixo com gelo do lago que, normalmente, sempre chegava para passar toda a época quente do ano.
Depois da casa do gelo e da casa refrigerada, ficavam as casas dos escravos onde agora moravam apenas homens e mulheres livres. Uma parte dos libertados tinha deixado Forsvik para preparar novas terras em propriedades que ficavam longe demais. Mas a maioria tinha escolhido ficar. Segundo Luke e Toke, os que preferiram ficar também eram os melhores, já que em Forsvik ninguém passava fome e ninguém sentia frio.
A volta terminou onde tinha começado, na oficina das flechas. E
Sigge Orm puderam, então, se sentar e começar a executar o seu primeiro trabalho simples, o de perfurar um buraco no corpo da seta, usando uma ferramenta que eles nunca tinham visto antes. Era nesse buraco que se fixava a ponteira da seta. Logo entenderam que ali se lam setas de dois tamanhos, as setas normais e outras, no mínimo, Urr terço mais compridas. E havia, ainda por cima, vários tipos de ponteiras. As flechas mais compridas deviam ter uma ponteira parecida uma agulha, muito longa e muito afiada, de tal maneira que bastava um leve toque para furar a pele. Para as flechas mais curtas, havia dois tipos de ponteiras, um em que as farpas ficavam mais fechadas, sendo o caso mais normal. E o outro tipo, em que as farpas ficavam bem abertas, quase como duas asas.
Notava-se em Sigge e Orm que eles não percebiam o que tinham recebido em suas mãos. E Luke explicou com ar de conhecedor que as setas mais longas eram feitas para arcos grandes e disparadas para longas distâncias. As ponteiras finas e longas serviam para penetrar através das malhas dos coletes de aço. As ponteiras mais largas eram para usar contra os cavalos. Já tinham sido produzidas em Forsvik mais de dez mil setas e a maioria tinha ido para Arnäs em grandes barricas, cada uma com cem flechas. Todos os dias, eram feitas no mínimo trinta setas, em Forsvik.
Com os dois novos aprendizes trabalhando na oficina de flechas, o esquema de trabalho mudou, com Sigge e Orm treinados para realizar apenas o furo no corpo da seta onde se prendia depois a ponteira. Assim que não conseguiam fazer os furos suficientemente largos ou profundos, recebiam o corpo da seta de volta, com uma pequena reprimenda. Luke e Toke, depois, assestavam as ponteiras no seu devido lugar, fixando-as com fio de linho mergulhado em piche, mandando-as em seguida para os estrangeiros que faziam o mais difícil que era colocar as penas de direção.
Não foi exatamente dessa maneira que Sigge e Orm sonharam com a sua nova vida em casa do senhor Arn, em Forsvik. Mas sentiram que não era uma boa idéia contar para Luke e Toke que pretendiam continuar o aprendizado entre os jovens senhores.
Embora Orm, que até ali, por timidez, quase nada tinha falado, deixasse escapar algumas palavras a respeito dos seus sonhos, no fim do dia, na hora da comida, da sopa com pão, e o pessoal não perdoou, todos que estavam na mesa riram dele. No aprendizado das coisas de guerra» entravam apenas os folkeanos. Nada de libertos com nomes como Sigge Toke, Luke ou Orm. Com esses nomes, o destino era as oficinas.
Sigge mordeu os lábios e não disse nada. Ele tinha recebido do próprio senhor Arn uma promessa que faria questão de lembrar a ele, na primeira oportunidade.
Do funeral em Varnhem para Arnäs, Arn cavalgou pela primeira vez na companhia de escudeiros. Um esquadrão de dezesseis cavaleiros entre os quais Sune, Sigfrid e Torgils Eskilsson tinha seguido com Cecília para Varnhem, ao longo das praias do Vättern.
Os jovens escudeiros de Forsvik tinham atraído muitos olhares em Varnhem. Os três mais velhos ainda não tinham chegado nem aos dezoito anos de idade. Os seus cavalos não estavam selados, nem equipados como os outros. As laterais e o peito na frente estavam cobertos com tecido nas cores folkeanas. Um ou outro se aproximou mais e refletiu sobre as fortes correias em preto que corriam por baixo do tecido e chegou a beliscar o animal, verificando que por baixo ainda das cores folkeanas havia uma camada gorda e grossa de malha de aço costurada no tecido como defesa contra flechas. Que apenas três dos escudeiros tivessem atingido a idade de adultos podia considerar-se também um caso extraordinário, mas até mesmo os mais novos no séquito de Arn Magnusson portavam as suas armas com muita autoconfiança, muito à vontade, cavalgando como poucos homens na Götaland Ocidental podiam fazer.
Arn achou que ele, nessa inevitável demonstração, tinha acrescentado mais uma nova onda à inundação de rumores que cercavam Forsvik. Mas ele não podia ter chamado Cecília para o funeral do rei, sem providenciar para ela aquela proteção no caminho que a honra exigia.
Em um único dia, eles viajaram de Varnhem para Arnäs, sem sequer se esforçar ou forçar demais os cavalos. Cecília usou como de "ábito uma sela normal com os pés, cada um no seu estribo, de cada lado do animal. Como estava cavalgando na sua Umm Anaza, não teve qualquer dificuldade em acompanhar o ritmo de marcha do Séquito de jovens armados.
Eles não pararam em Skara, já que não tinham trazido consigo carroças para levar eventuais compras. Toda a sua bagagem tinha sido colocada em sacolas de couro no lombo de dois cavalos de carga. Perto de Skara, o trânsito ficou difícil, já que o caminho estava pejado de carroças de camponeses, uns indo, outros vindo. Era dia de feira e o séquito azul provocou muita admiração e longos olhares espantados por onde passou. Que havia uma força sinistra e secreta nesses cavaleiros ninguém podia deixar de notar. Todos podiam ver e perceber que o poder folkeano estava crescendo. Mas se era um poder bom ou mau, se era para defender a paz ou um presságio de guerra, ninguém podia dizer.
Eles seguiram caminho por Kinnekulle para visitar o mestre-pedreiro Marcellus, que estava trabalhando na sua pedreira preparando a decoração para a nova igreja em Forshem. Já tinha algumas imagens prontas, uma que provocou a admiração de todos e outra que levou Arn a corar e a gaguejar de um jeito a que ninguém estava habituado a vê-lo.
A imagem que todos, certamente, viriam a admirar estava sendo preparada para ser colocada sobre a porta da igreja e mostrava como Jesus dera a Pedro as chaves do reino dos céus e, a Paulo, o livro com o qual ele devia espalhar a fé cristã pelo mundo. Por cima da cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo aparecia a cruz dos templários e um texto gravado em bom latim que dizia: Esta igreja é dedicada ao Nosso Senhor Jesus Cristo e ao Santo Sepulcro.
Tanto a imagem quanto o texto faziam do observador um devoto. Era como se a pessoa estivesse vendo aquele mesmo momento, embora esse momento não pudesse acontecer nunca no mundo dos sentidos. Mas para Deus não havia tempo nem espaço. Ele estava em toda parte ao mesmo tempo. E, por isso, a imagem era tão bonita quanto verdadeira. Foi um sentimento profundo o que Arn sentiu no peito, quase um medo, por ter tido a graça de mandar construir essa igreja dedicada ao Santo Sepulcro. Embora a construção ainda estivesse longe de pronta, essa imagem já dava uma idéia do que estava por vir.
A imagem que, por outro lado, fez com que Arn perdesse a respiração, um momento por timidez, outro, por raiva, mostrava o Nosso
Senhor Jesus Cristo recebendo as chaves da igreja de um cavaleiro, com Ele abençoando a igreja com a Sua mão direita e um mestre-pedreiro, ajoelhado, com a picareta, trabalhando na igreja.
A imagem podia retratar, apenas, o ato de Arn dar a igreja de presente para Deus e o de Marcellus, de a construir. Não era mentira nenhuma e não era nenhuma blasfêmia, mas era uma maneira levada ao extremo de enfeitar a sua personalidade.
Marcellus tinha uma maneira mais peculiar de ver essa imagem. Dizia que ela apenas expressava uma verdade secular e um bom exemplo para as pessoas. Há mil anos, todos os observadores designados veriam que Arn, um templário, estaria doando esta igreja. Não seria esta, no mínimo, uma atitude edificante? Não foi esse, justamente, o pensamento que devia ficar expresso com a dedicatória da igreja ao Santo Sepulcro? Em vez de procurar o Santo Sepulcro na Terra Santa através de guerra e morte, os verdadeiros crentes poderiam procurar e encontrar tudo no seu próprio coração. Foi sobre isso que discutimos já na primeira vez que nos encontramos e fizemos o negócio em Skara.
Arn não queria relembrar que esses tivessem sido os termos do que foi dito, mas admitiu que esse pensamento não era muito diferente daquele que ele tinha. Em contrapartida, aparecer ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo era uma outra coisa. Isso era presunção e, portanto, um grande pecado.
Marcellus encolheu os ombros e disse que isso não era pior do que mostrar como Deus expulsou Adão e Eva do Paraíso, que era outra das imagens em que ele tinha pensado para a igreja. Deus e as pessoas podiam ficar na mesma imagem, desde que a imagem fosse verdadeira. Não eram apenas as boas pessoas e os santos que podiam ser mostrados em tais imagens, mas também, do mesmo modo, Barrabás e o soldado romano que cravou o prego em Jesus na cruz. E não havia presunção nenhuma em dizer que Arn Magnusson mandou construir essa igreja e a dedicou à Sepultura de Deus. Era apenas a verdade.
Além disso, Cecília falou que achava a imagem não só bonita como verdadeira e que apenas poderia alegrar a Nosso Senhor, já que mostrava outra coisa senão humildade diante Dele.
Eles concordaram em não decidir nada com pressa, antes repensar tudo sobre a imagem do próprio Deus e os construtores da igreja. Havia muito tempo até que a igreja ficasse pronta e fosse inaugurada.
Em Arnàs, eles ficaram apenas um dia, mais porque Arn queria dar uma nova volta em torno dos muros e verificar todos os mínimos detalhes. Tudo o que tinha a ver com a defesa externa do castelo já estava pronto. Daqui para a frente, podiam ser dedicados tantos anos quantos se quisesse na preparação da defesa interna ou mais para o conforto do que para a guerra.
A moradia em pedra e com três andares estava quase pronta e já daria para mudar no inverno seguinte. O que restava construir era a grande despensa para os grãos, o peixe seco e a forragem para os cavalos e o gado, todo o necessário para agüentar um longo cerco. Além disso, seria um trabalho mais simples para o qual não seriam mais necessários os melhores construtores que o mundo conseguia produzir. Os muros externos, as torres, os portões e as pontes levadiças, estava tudo pronto. Era o essencial. Em Forsvik, já tinham terminado os trabalhos com a produção das correntes grossas para as pontes levadiças e as grades.
A antiga grande torre de Arnäs era agora depósito de armas e de peças valiosas. Na câmara alta, havia várias filas de barricas de madeira, todas cheias com mais de dez mil flechas. A câmara de baixo estava repleta de bestas, espadas e lanças. Arnäs já se encontrava pronta para enfrentar o cerco de um inimigo poderoso. Mas tal como a situação se apresentava no momento, não existia perigo de guerra previsto para breve, antes havia muito tempo para terminar tudo o que estava previsto desde o início. Logo Arnäs se transformaria numa fortaleza inexpugnável onde muitas centenas de folkeanos ficariam em segurança independentemente de qual o inimigo que estivesse acampado fora dos muros.
Torgils, que não via Arnäs desde o Natal, decidiu ficar alguns dias com o seu pai, Eskil, enquanto o séquito de Arn seguia em frente na direção de Forsvik. Eles saíram bem cedo, ao amanhecer, para fazer a viagem em vez de ter de passar a noite em Askeberga.
Ao se aproximarem de Forsvik naquela tarde, o sino tocou e em poucos minutos todos os homens jovens e os cocheiros correram para os seus cavalos. Quando Arn e Cecília e o seu séquito chegaram a Forsvik, havia três esquadrões formados na entrada, em linha reta, ao longo de toda a rua larga da aldeia. Bengt Elinsson, que era o único comando superior a ficar em Forsvik, tinha colocado o seu cavalo três passos à frente dos outros. Ele foi o primeiro a desembainhar a espada. Depois, todos os outros fizeram o mesmo, saudando o regresso do senhor Arn e da senhora Cecília.
Arn avançou, então, até Bengt, agradeceu com poucas palavras, assumiu o comando e ordenou que todos os jovens senhores retornassem para os seus postos ou serviços onde estavam ao soar o alarme.
Os dias seguintes ficaram cheios de despedidas tristes, a um tempo amargas e doces, em Forsvik. Os cinco anos de contrato de Arn com os sarracenos tinham terminado. Aqueles que quisessem viajar poderiam fazê-lo em breve. O barco grande com bacalhau, vindo de Lofoten, era esperado em Lõdõse. Com ele, os retornados seguiriam para Bjõrgvin, que era a maior cidade da costa oeste da Noruega. De lá, partiam barcos regularmente para Lisboa, em Portugal, e aí quase que já estavam na terra dos crentes.
Apenas metade dos estrangeiros quis retornar para casa, entre eles os curandeiros Ibrahim e Yussuf. Eles estavam certos de que seus serviços iriam ter uma utilização melhor no reino dos almóadas, em Andaluzia. Os dois ingleses, John e Athelsten, também quiseram retornar, mas para eles a volta era mais simples, visto que, de vez em quando, saíam barcos de Lõdõse para a Inglaterra, para onde, nos últimos anos, Eskil tinha começado a expandir os seus negócios.
Metade dos construtores que trabalhavam em Arnäs também quiseram retornar, utilizando o mesmo caminho de Ibrahim e Yussuf. Achavam que era difícil viver com a fé correta num país que parecia ter sido esquecido por Deus que existia. A outra metade dos construtores tinha talvez uma opinião mais indulgente a respeito da memória de Deus, embora a decisão deles de ficar em vez de partir se devesse mais ao fato de vários deles, como Ardous, de Al Khalil, já terem mulher e filhos.
Os dois mestres na produção de cobertores, Aibar e Bulent, também não quiseram viajar. Acreditavam poder viajar de Bjõrgvin para Lisboa, mas daí em diante era um caminho infinito até a Anatólia. E além do mais as suas aldeias de origem há muito que tinham sido incendiadas e desaparecido do mapa, arrasadas por cristãos e sarracenos. Eles não tinham por que retornar para casa.
Com os irmãos Jacob e Marcus Wachtian, acontecia que eles já haviam começado a se tornar nórdicos. Ambos já falavam a língua do povo, de uma forma compreensível, há bastante tempo.
Jacob também voltou de uma das suas viagens a Lübeck, onde ia por conta de Eskil e Arn, com uma surpresa, uma esposa, que ele afirmou ser sua, legalmente, diante de Deus. Ela se chamava Gretel e dizia-se que tinha sido abandonada pelo seu futuro marido em Lübeck, no próprio dia do casamento, mas logo encontrou consolo nos braços do mercador armênio, Jacob. A história estava mal contada, faltando mais de um tijolo na sua construção, mas ninguém em Forsvik encontrou uma razão para discutir sobre o assunto. Para Jacob, não havia razão para pensar em viajar. Gretel não queria voltar para a sua própria terra, nem morta. E nem se sabia por quê. Para a Armênia, ainda menos. E, além disso, estava grávida.
Marcus não tinha vontade nenhuma de retornar, viajando sozinho. Mulher ele não tinha, com que se divertir. Não era como seu irmão, coisa para a qual ele, de vez em quando, furtivamente, chamava a atenção de Arn. Mas para ele a vida em Forsvik era boa e divertida, já que lhe dava, permanentemente, a oportunidade de procurar novas maneiras de utilizar a força hidráulica ou produzir novas armas ou ferramentas para trabalhar. Embora com uma mulher tudo fosse mais fácil.
Arn decidiu acompanhar os sarracenos e os ingleses até Lódõse para que a última viagem deles pelas terras dos cristãos decorresse em segurança. Ele contava que os sarracenos estariam em segurança assim que entrassem a bordo do navio em Bjõrgvin. Quanto aos ingleses, ele não se preocupava nada, mesmo deixados a sós por algum tempo em Lõdõse.
Foi uma despedida de fortes emoções. Muitos amigos que trabalharam duro e juntos, durante cinco anos, choraram abertamente, quando subiram a bordo das barcaças que os levariam para o lago Vänern e, depois, em barcos maiores pelo rio Gota. Da mesma forma, também foi um alívio para todos quando a despedida terminou e as barcaças desapareceram na primeira curva a caminho de Viken. Arn e Cecília ficaram satisfeitos por ver que, mesmo assim, muitos dos estrangeiros tinham resolvido ficar, que o seu trabalho e os seus conhecimentos não tinham preço e que ainda não tinha sido possível aos aprendizes, entre os libertos, realizar o trabalho que levou tantos anos a aprender bem.
Arn estava melancólico quando voltou de Lõdõse uma semana mais tarde. O mais difícil foi a despedida do velho Ibrahim e Yussuf e dos turcopolos Ali e Mansour. A sabedoria dos curandeiros jamais poderia ser substituída em Forsvik, e ainda que os jovens senhores que estavam há mais tempo no serviço merecessem todos os elogios no domínio dos cavalos, em especial, comparado com os outros homens na Escandinávia, haveria ainda um longo caminho a percorrer para chegar perto desses guerreiros sírios como eram Ali e Mansour, cuja arte com as armas e os cavalos era o seu pão de todos os dias.
No entanto, o combinado estava combinado e precisava ser mantido. Talvez fosse melhor se alegrar pelo fato de metade dos sarracenos ter escolhido ficar do que se lamentar pelo fato de metade deles ter retornado para casa depois de cinco anos. Era preciso também observar o muito que tinha sido feito durante esse tempo para assegurar a paz.
Mas Arn não estava no melhor dos humores, e ao sentar-se para comer, Gure chegou com dois garotos das oficinas que ele ainda não conhecia. Primeiro, duvidava do que ouviu eles dizerem, com voz estremecida, que ele lhes tinha prometido entrarem como aprendizes em Forsvik. Eles não eram jovens folkeanos. E como se podia ver a distância, eram antes filhos de escravos ou de libertos. Ele perguntou primeiro, com um ar severo, de onde é que tinham tirado esses seus sonhos. E foi logo lhes dizendo que era um grande pecado jurar em falso. Mas, quando finalmente tiveram a oportunidade de contar a sua história, de como ele tinha chegado a Askeberga pela primeira vez e eles tinham gritado por ele na porta. E como ele chegou até eles na praça e falou com eles, só então Arn se lembrou. Isso o fez ficar pensativo e em silêncio, refletindo um bom bocado antes de tomar a sua decisão. Sigge e Orm esperavam por essa decisão em estado de agonia. Gure, em estado de surpresa.
— Gure, leve esses garotos até Sigfrid Erlingsson — disse ele, finalmente. — Diga que eles devem começar no grupo dos mais jovens de pele fraca. E providencie roupas e armas para eles.
— Mas, senhor, esses garotos não são folkeanos — objetou Gure, de queixo caído.
— Eu sei disso — confirmou Arn. — Eles são apenas filhos de um liberto. Mas fizemos um trato, e qualquer folkeano sempre respeita um trato.
Gure sacudiu os ombros e levou consigo Sigge e Orm, ambos querendo gritar e pular de alegria, coisa que, com muita dificuldade, conseguiram dominar.
Arn ficou longo tempo diante do seu prato de comida, ingerido pela metade. Ele tinha feito a si mesmo uma pergunta muito estranha, uma pergunta que nunca antes lhe tinha passado pela cabeça. E essa pergunta era se apenas os nascidos folkeanos podiam ser folkeanos ou se as pessoas podiam tornar-se folkeanas. Afinal, pelo que se sabia, nem todos os nascidos folkeanos eram os melhores e nem todos os outros eram os piores.
Segundo o Regulamento dos templários, dizia-se que apenas aqueles que tinham um pai com escudo de armas seriam admitidos como irmãos na ordem. Os outros teriam que ficar satisfeitos em serem sargentos. Em mais de uma oportunidade ele viu irmãos cavaleiros que ficariam melhor na classe de sargentos e vice-versa.
E onde estava escrito que não se podia transformar gente boa em folkeanos, assim como se misturava sangue novo numa raça de cavalos? Através do cruzamento dos cavalos da raça nórdica, pesados e fortes, com os árabes, rápidos e ligeiros, estava sendo criada uma nova espécie, mais adaptada para a cavalaria pesada que era a próxima grande produção especial de Forsvik. Era possível costurar o melhor entre os cavalos árabes e nórdicos, do mesmo jeito que se conseguia trabalhar com várias camadas de ferro e de aço para produzir as espadas de Forsvik. Por que não produzir folkeanos do mesmo jeito?
Embora, evidentemente, ele tivesse que rebatizar os dois garotos, se é que eles tinham sido batizados antes. De Sigge e Orm é que nenhum cavaleiro folkeano podia chamar-se.
Sverker Karlsson veio com um séquito imponente de cem cavaleiros da Dinamarca para Näs, para onde tinha a intenção de mudar com a sua gente. Ele ficou esperando o final do ano para fazer a viagem, a fim de que o gelo do lago Vättern ficasse espesso e permitisse uma travessia segura.
Depois do ano-novo, ele mandou chamar todos os folkeanos, eri-kianos e sveas de importância para irem à residência real de Näs, para o eleger depois de ele ter feito o seu juramento. A seguir, teriam três dias de festa.
Nunca antes se tinha visto tantos mantos vermelhos em Näs, nem mesmo durante o reinado de Karl Sverkersson. Não se tratava apenas de sverkerianos, pois, entre os dinamarqueses, também o vermelho era a cor predominante. E Erik, o conde, que estava em Näs à chegada de Sverker, segredou para Arn, com repugnância, que parecia até um rio de sangue escorrendo pelo gelo.
Birger Brosa e seu irmão Folke, e Erik, o conde, tornaram-se os únicos participantes seculares no novo conselho do rei que não eram nem dinamarqueses nem sverkerianos. Eskil teve de deixar o seu lugar no conselho, visto que, como Sverker explicou, o comércio era um assunto muito sério e devia ser deixado nas mãos mais competentes dos dinamarqueses. Para marechal ele nomeou o seu amigo Ebbe Sunesson que era parente dos folkeanos de Arnäs, visto que o seu parente Konrad era casado com a meia-irmã de Arn e de Eskil, Kristina. Sverker considerava que esse parentesco era como uma ponte entre os dinamarqueses e os folkeanos.
O arcebispo Petrus brilhava como o sol e agradecia a Deus, repetidamente, por Ele, na Sua infinita bondade e justiça, ter encaminhado o filho do assassinado rei Karl para receber a coroa dos gotas e dos sveas. Com isso, foi feita a vontade de Deus, assegurava Petrus.
No entanto, Sverker não pôde colocar a coroa na cabeça antes de jurar diante do conselho e da assembléia do reino formada pelos grandes homens de que, com a ajuda de Deus, cuidaria para manter a lei e a justiça. Ele também teve de jurar que desistia de todas as pretensões dos seus parentes pela coroa e que Erik, o conde, seria depois dele o próximo herdeiro do trono. E que depois de Erik, o conde, seriam pretendentes ao trono seus irmãos mais novos, pela ordem, Jon, Joar e Knut, que continuariam a viver no reino com todos os direitos que os filhos do rei detinham.
O arcebispo Petrus, que dirigiu o juramento, tentou pular o texto em diversos lugares, mas foi logo chamado à atenção por sveas e gotas. Só depois de tudo ter sido corrigido e dito, todos os presentes juraram fidelidade ao rei Sverker enquanto ele vivesse — e enquanto ele se mantivesse fiel ao seu próprio juramento.
Durante os dias seguintes, os dinamarqueses mostraram como se fazia uma festa real no grande mundo, com embates entre cavaleiros que cavalgavam uns contra os outros com lanças e escudos. Apenas os dinamarqueses participaram nesses torneios, já que os novos senhores do poder aceitaram por verdade que ninguém naquelas províncias retardadas da Götaland Ocidental e da Svealand sabia combater a cavalo. E a julgar pelas muitas expressões de admiração e espanto, o rei Sverker podia verificar entre os seus novos súditos que essas artes de cavalaria, que desde há muito tempo existiam na Dinamarca, eram coisa que jamais tinha sido vista na Escandinávia.
Arn contemplou com toda a atenção, mas de rosto inexpressivo, tudo que os cavaleiros dinamarqueses executavam. Algumas manobras não eram nada más, outras muito simples, como ele esperava. Nenhum deles teria servido sequer para sargento na Ordem dos Templários, mas nos campos de batalha na Escandinávia seriam difíceis de enfrentar. Caso se quisesse ir contra esses dinamarqueses em campo aberto, eram precisos mais alguns anos de exercícios em Forsvik. Mas assim grande como antes não era mais a vantagem deles.
Durante os dias de festa, o rei Sverker e o seu marechal, Ebbe Sunesson, ficaram a maior parte do tempo na sua sala com a corte dinamarquesa à sua volta e chamando um a um os homens importantes do reino, com Birger Brosa fazendo as apresentações. O rei Sverker mostrou-se amável o tempo todo e disposto a tratar folkeanos e erikianos do mesmo modo que os seus parentes e amigos sverkerianos.
Quando chegou a vez de Eskil e Arn se apresentarem diante do soberano e de seus homens da corte, Birger Brosa contou a respeito de Eskil que ele era mercador e antes participante ativo no conselho do rei Knut e que se tornaria o senhor de Arnäs. E a respeito de Arn que este tinha vivido grande parte de sua vida em mosteiros, inclusive na Dinamarca e que agora era senhor do burgo na floresta de Forsvik.
Arn trocou um rápido olhar com Birger Brosa em relação a essa descrição incompleta do que fora a sua vida entre o tempo de mosteiro como criança e o de Forsvik como homem. Birger Brosa apenas respondeu com uma piscadela de olho, rápida e indiscernível.
O rei Sverker ficou satisfeito em encontrar alguém que não tinha dificuldades em entender o dinamarquês como muitos dos lerdos sveas tinham. E para Arn foi fácil voltar a falar aquela língua que ele, por tanto tempo, falara como criança. Aliás, continuava a soar mais como dinamarquês do que como o gota que ele era.
A princípio, a conversa girou sobre assuntos sem importância como, por exemplo, a respeito de como era bonito em Limfjorden, à volta do mosteiro de Vitskol ou a respeito da cultura de mexilhões que os monges implantaram sem sucesso, tudo porque o povo do fiorde achava que era contra a Palavra de Deus que se comessem os mexilhões. Atualmente não era mais assim, assegurou o rei Sverker. Ele convidou, então, Arn e Eskil a visitar a Dinamarca com um salvo-conduto seu para se encontrarem com a sua meia-irmã, Kristina. Mas ao ver que os dois irmãos pareciam não estar muito dispostos a realizar essa viagem, o rei mudou o seu convite e prometeu em vez disso convidar Kristina e seu marido Konrad Pedersson a visitar Näs em qualquer altura, durante o próximo verão. Ele se esforçou o tempo todo para mostrar que toda a antiga inimizade era coisa que ele já tinha esquecido.
Por isso, podia considerar-se uma falta de tato e desnecessário, também, da parte do marechal Ebbe Sunesson, se lembrar, de repente, de como ele uma vez em Arnäs caiu numa pequena disputa com algum dos seus parentes, embora não houvesse nenhuma inimizade pendente desse entrevero, certo?
Ele falou macio, mas com um sorriso disfarçado no canto da boca. Birger Brosa fez um rápido aceno de aviso com a cabeça para Arn e este, com grande dificuldade, se conteve antes de responder que quem tinha morrido fora seu irmão Knut e que eles rezaram muito pela alma dele, mas não estava na cabeça deles pensar em vingança.
Com isso, Ebbe Sunesson devia dar-se por satisfeito. Mas talvez tivesse bebido demais durante o banquete, talvez estivesse inchado demais pela vitória no torneio dos cavaleiros ou talvez ele e os seus amigos já tivessem conversado demais sobre serem os novos senhores entre gente que não merecia nenhum respeito. Porque aquilo que ele disse a seguir fez com que tanto Birger Brosa quanto o rei Sverker ficassem ambos pálidos, ainda que por motivos diferentes.
Com um sorriso aberto de escárnio, ele explicou para Arn e Eskil que não precisavam se intimidar. Se achavam que seus direitos e sua honra tinham sido feridos com a morte triste do seu irmão, ele estaria disposto a enfrentar qualquer um deles pela espada. E por que não os dois ao mesmo tempo? Mas a questão era saber, evidentemente, se eles tinham honra ou coragem suficientes.
Arn olhou para o chão, abafando com muito esforço seu primeiro pensamento de desafiar o atrevido, de imediato, para um duelo. Deve ter parecido mais como se ele tivesse vergonha de não ousar aceitar o desafio que recebeu com palavras tão expressivas quanto uma bofetada no rosto.
Quando o silêncio se tornou mais do que insuportável, Arn endireitou a cabeça e falou tranqüilo que, depois de ter refletido bastante, achou que seria uma idiotice fazer com que o novo rei e seus homens começassem o seu tempo nas terras dos gotas e dos sveas com sangue. Isso porque, de qualquer maneira, caso o senhor Ebbe assassinasse mais um folkeano de Arnäs ou ele próprio assassinasse o marechal do rei, nada iria favorecer o rei Sverker ou a paz que todos procuravam manter.
O rei colocou então a sua mão no braço de Ebbe Sunesson, evitando que ele respondesse, o que ele parecia estar mais do que disposto a fazer. E o rei continuou, dizendo que se sentia honrado por ver que, entre aqueles que lhe tinham jurado fidelidade, havia homens bons como Eskil e Arn Magnusson, que entendiam ser seu dever colocar a paz do reino acima da sua própria honra.
Eles não responderam. Apenas fizeram uma vênia e foram embora. Arn teve de sair logo no ar frio. Estava fervendo de humilhação. Eskil correu no seu encalço, assegurando que nada de bom podia suceder se um folkeano, logo na primeira semana do rei Sverker no poder, matasse o seu marechal. E, além do mais, todas essas palavras podiam ter sido evitadas, caso Birger Brosa tivesse sido um pouco mais explícito na descrição do tipo de vida que Arn vivera no mosteiro. Do jeito que foi, aquele marechal arrogante jamais soube o quanto estivera perto da morte.
— Não posso entender também a vontade de Deus ao colocar a distância de uma espada o assassino do nosso irmão — murmurou Arn, entre dentes.
— Se Deus quiser juntar vocês dois, armados, Ele fará isso. Por agora, Ele, certamente, ainda não quis — respondeu Eskil, irresoluto.
No PRIMEIRO ANO DO REINADO DO REI SVERKER, a única mensagem recebida de Näs que agradou aos folkeanos e aos erikianos foi a de que o arcebispo Petrus comera demais no segundo Natal e morrera. Fora disso, não se ouviu muita coisa, nem boa nem ruim. Era como se aquilo que dizia respeito ao poder supremo no reino não tivesse nada a ver com folkeanos e erikianos.
Nem mesmo quando quis mandar uma cruzada para o leste, o rei Sverker achou razão para pedir ajuda a folkeanos e a erikianos, antes se juntou a dinamarqueses e a gotas. Na realidade, não se tornou uma cruzada de monta. A intenção era embarcar o exército de Sverker para Kurland, para de novo tentar atrair o país para a verdadeira fé e trazer para casa tudo o que encontrassem de valor. Uma tempestade vinda do sul empurrou, no entanto, os duzentos barcos da cruzada para o norte que acabaram tocando em Livland. Aí saquearam durante três dias, carregaram tudo para bordo e voltaram para casa.
Três dias de saques talvez não fossem nada a levar em conta, mas, em especial, os sveas lá da escura Nordanskog sentiram-se injuriados por não terem merecido a confiança de sequer mandarem um soldado ou um único barco. E que o rei e os dinamarqueses só tinham pensamentos baixos a respeito deles.
Para os folkeanos de Arnäs e de Forsvik não era desvantagem nenhuma o rei ter dispensado os seus serviços. Assim, eles puderam utilizar o tempo muito melhor. Em Arnäs, estavam construindo uma aldeia por dentro do muros, assim como novos poços de água e novas despensas. Em Forsvik, finalmente, as contas feitas por Cecília tinham começado a mostrar lucro.
Não dependia apenas de os vidros de Forsvik agora serem vendidos em Linkõping e em Skara, Strãngnás, õrebro, Aros Ocidental e Aros Oriental e até mesmo na Noruega. Uma parte dos jovens senhores já estava aprendendo em Forsvik há tantos anos que tinha chegado a hora de voltar para casa e, ao fazê-lo, assumiram a responsabilidade de armar seus próprios burgos e treinar seus próprios escudeiros e arqueiros de longa distância. Eles compravam todas as novas armas de Forsvik e, dessa maneira, passou a haver receita no setor que, durante muitos anos, trabalhou apenas para equipar e armar Arnäs e Bjälbo, sem pagamento. Ao contrário da história nas Sagradas Escrituras, primeiro, foram sete anos de vacas magras e, agora, os anos gordos estavam chegando. Mas, quando o resultado mudou, Cecília achou que devia refazer as contas várias vezes, visto não acreditar ter feito as contas certas. A corrente de pratas entrando, em vez de saindo: esse movimento ficou cada vez mais torrencial.
Os últimos anos antes da virada do décimo segundo século que, pelo que diziam alguns adivinhos e prelados, chegaria com o fim do mundo, foram anos de tranqüilidade para os folkeanos, mas também anos de muitas viagens e festas de casamento.
Casar com a família sverkeriana parecia não valer mais a pena, achavam tanto Birger Brosa quanto seus irmãos, Magnus e Folke. E atendendo a que Eskil, finalmente, tinha tido o seu casamento dissolvido com a traidora Katarina, agora fechada para todo o sempre no convento de Gudhem, ele teria de dar um bom exemplo. Por isso, a fim de encontrar alguém, viajou para Aros Ocidental e os arredores da incendiada e devastada Sigtuna e logo achou o que procurava na pessoa da viúva Bengta Sigmundsdotter. O seu marido tinha sido assassinado alguns anos antes, quando os estonianos chegaram para saquear. Mas ela havia sido inteligente, quase que como se tivesse previsto o futuro. Pois, mesmo sendo ela e o seu marido os donos da maior casa de comércio de Sigtuna, ela insistiu em não guardar na cidade todas as riquezas que tinham acumulado e levá-las para a casa de seus pais, mais ao norte. Dessa forma, ela se tornou um dos poucos habitantes de Sigtuna que saiu rica das chamas e da fumaça.
Tão rica ela, possivelmente, não era, para poder chegar com um presente de noiva de um valor completamente de acordo com o casamento com Eskil, mas também não era nenhuma mulher do campo. E com viúvas ninguém levava tão a sério essas questões. Por exemplo, não era preciso fazer festa de noivado, se bem que eram as viúvas que decidiam sobre isso. A festa de casamento podia acontecer de imediato e sem rodeios, assim que o acordo entre Eskil e Bengta estivesse pronto.
Eskil e Bengta gostaram um do outro e, na opinião de todos, formavam um belo e harmonioso par. Bengta sabia tratar bem dos negócios, para uma mulher, e os negócios eram para Eskil, de fato, a grande fonte de alegria na vida. Desde o primeiro momento em que se encontraram, começaram logo a falar em deixar Sigtuna e mudar o empório comercial de Bengta ou para Visby ou para Lübeck. Dessa forma, iriam fortalecer as posições de ambos.
Procurar uma mulher da Svealand para o jovem Torgils ficou mais difícil. Mas a rainha viúva, Cecília Blanka, era da Svealand, e depois da morte do rei Knut, ela não suportou continuar a viver em Näs, ainda que o novo senhor, o rei Sverker, bajuladoramente, tivesse dito para ela ficar como sua convidada pelo tempo que quisesse. Mas não era assim que os componentes dinamarqueses da corte do novo rei pensavam. Seus filhos, Erik, o conde, Jon, Joar e Knut, eram considerados em Näs mais como prisioneiros em gaiola de ouro, mas ela podia ir embora quando quisesse. Ela fingiu que iria para Riseberga como conviria para uma rainha viúva sem poderes, mas ao passar por Forsvik, ela desembarcou e ficou por lá. As duas Cecílias logo iniciaram planos para o casamento do jovem Torgils e chegaram à conclusão que o melhor para ele seria a filha de um homem de leis, já que os homens de leis detinham uma posição muito forte na Svealand e esse poder era importante em termos de ligação carnal.
Tal como as Cecílias imaginaram, assim aconteceu. Por isso, seguiu-se um verão com muitas viagens entre a Götaland Ocidental e a Svealand, pois, logo a seguir ao casamento de Eskil, este, com o seu filho Torgils, mais Arn e o seu filho Magnus Mâneskõld, com grande séquito, viajaram para a Svealand, para a festa de noivado a realizar na bem escura Uppland. E, no caminho, foram parando e visitando os homens importantes da província que eram novos parentes de Eskil ou eram parentes de Cecília Blanka. A festa de noivado de Torgils e Ulrika que era filha de Leif, homem de leis, do burgo de Norrgarn, a um dia de viagem de Aros Oriental, aconteceu no final do verão, antes de a colheita começar na Uppland. A festa de casamento durou cinco dias e foi realizada em Arnäs, mais tarde, durante o outono.
Mas também as senhoras viajaram muito durante esses tempos tranqüilos. Seu lugar de encontro mais normal era Ulväsa, em casa de Ingrid Ylva, visto que ficava a meio caminho entre Forsvik e Ulfshem, de modo que as Cecílias e Ulvhilde apenas tinham pela frente um dia de viagem para se encontrarem. Ingrid Ylva e Ulvhilde eram sverkerianas, Cecília Blanka era de família svea e Cecília Rosa de família Päl de Husaby, por isso, as quatro podiam encontrar-se à vontade, sem ficar pensando a toda hora em erikianos ou folkeanos com que todas foram casadas. Ingrid Ylva já tinha dado à luz dois meninos e esperava uma terceira criança nesse verão em que as mulheres conviveram mais umas com as outras do que com os respectivos homens. Como o filho mais velho de Ingrid Ylva, em breve, ia fazer cinco anos de idade, a mesma da filha de Cecília Blanka, Alde, houve muita conversa a respeito de que os dois deviam estudar, ampliando os seus conhecimentos, e como seria possível resolver esse assunto em conjunto. Ulvhilde tinha mandado no ano anterior os seus meninos para um professor em Linkõping, mas para a fortaleza sverkeriana não era uma boa idéia mandar os dois pequenos folkeanos na situação ruim em que se vivia.
Finalmente, Cecília Blanka teve a idéia de que Birger e a pequena Alde podiam ir estudar em Forsvik. Era uma questão apenas de convencer o velho monge a diminuir o tempo dedicado à espada e ao cavalo, o que até lhe faria bem à saúde. Além disso, Cecília Blanka também achava que ela, como rainha sem ter nada para fazer, podia se tornar útil de uma forma a que ninguém seria contra, se ela participasse também do ensino de crianças. Todas acharam que essa era uma boa idéia. E logo decidiram que no dia seguinte embarcariam no primeiro e melhor dos barcos de Eskil e iriam a Forsvik para falar com o próprio monge.
E assim aconteceu que o irmão Guilbert logo se viu numa inesperada situação difícil em Forsvik, no grande salão novo. Ele não precisava escutar muita argumentação para concordar que em parte era do agrado de Deus ensinar as crianças e que em parte esse tipo de trabalho iria poupar o seu velho corpo, mais do que a espada e o cavalo. Mas ele insistia em complicar a situação, dizendo que não era essa a missão que recebera do padre Guillaume, de Varnhem.
Essa objeção Cecília Blanka afastava tão facilmente quanto se afasta uma mosca, dizendo que aquilo que o padre Guillaume queria ou não queria dos folkeanos e dos erikianos tinha mais a ver com a bolsa de pratas do que com as coisas do espírito.
Por muito que o irmão Guilbert concordasse também, mas em silêncio, com essa idéia atrevida, ele se esgueirou ainda dizendo que tinha um trato com Arn. Então, foi a vez de Cecília Rosa interferir, dizendo que era ela e não Arn a proprietária de Forsvik.
Como se se agarrasse à última tábua de salvação, o irmão Guilbert afirmou que, de qualquer maneira, não podia se comprometer antes de Arn voltar para casa e falar com ele. E logo sofreu a última pressão para concordar que, se Arn não tivesse nenhuma objeção, ele assumiria.
Com isso, as insistentes mulheres se consideraram satisfeitas, trocando olhares vitoriosos antes de se dedicarem a outros assuntos, numa conversa acompanhada por vinho, o que fez o irmão Guilbert pedir desculpas e se retirar.
Quando a esposa do rei Sverker, Benedikta, morreu de febre, poucas reações de tristeza provocou entre erikianos e folkeanos. A única filha do rei Sverker, Helena, não era considerada uma ameaça à coroa.
Maior foi a convulsão quando se espalhou o rumor de que o conde Birger Brosa mandou chamar a sua última filha, Ingegerd, guardada no convento de Riseberga para casá-la com o rei. Segundo se sabia, Ingegerd era uma mulher forte e que, pelo que parecia, seria capaz de dar à luz quantos filhos fossem precisos. Muitos disseram que essa fora a única besteira que Birger Brosa tinha feito na sua longa vida e que agora crescia como uma nuvem sobre todo o reino.
Depois dos primeiros anos de cautela no poder, o rei Sverker começou a tecer planos cada vez mais ousados. Isso todos entenderam, inclusive pela maneira como ele bajulava a Igreja e o corpo de bispos. Também foi quase ridiculamente notório quando ele imitou o rei Knut, da Dinamarca, ao promulgar novas leis, por iniciativa própria, sem consulta prévia ao conselho ou à assembléia.
O rei Knut da Dinamarca dizia que, como rei pela graça de Deus, podia emitir as leis como achasse melhor. Isto o rei Sverker não ousava dizer, mas alegou que emitia a lei por ter recebido aquilo que chamava de inspiração divina.
O que isso queria dizer era um mistério, a não ser que tinha a ver com Deus. Além disso, era uma lei fútil que existia há muito tempo, que a Igreja não pagaria impostos para o rei. Mas o coro dos bispos, sem surpresa, ficou-encantado e fazia todo o possível para explicar para os que queriam ouvir o que significava inspiração. Pelo que se podia entender, inspiração era uma coisa que vinha à cabeça do homem por sua própria vontade, mas até sem vontade.
Ao se verificar que o rumor da proposta infeliz que o próprio Birger Brosa oferecera ao rei sverkeriano era verdade, foi convocada uma assembléia da família folkeana. A reunião realizou-se em Bjälbo, visto que Birger Brosa se queixou da idade e da saúde, embora a maioria achasse que, certamente, ele preferia debater-se em casa, no seu próprio burgo, em que ele era o anfitrião, do que convidado por algum parente.
Ele teve que enfrentar muitas críticas por essa sua última intervenção casamenteira em causa própria. Os que falaram com ele, na sua maioria, concordaram, evidentemente, que muitos dos casamentos montados pelo velho conde tinham dado certo e favorecido a paz, mas desta vez ia acontecer o contrário.
Birger Brosa ficou encurvado e recolhido no seu lugar de honra e tentou de início não se defender muito. Assim ele fez sempre nos seus dias de grande força em que sempre falava por último em todas as discussões e aí resumia tudo o que os outros haviam dito e enfiava a espada cortante da sua língua na fenda que ele sempre descobria entre os seus querelantes.
Desta vez, parecia não haver nenhuma fenda e ele foi obrigado a falar mais cedo para se defender. Tentou começar como tantas vezes antes, com voz baixa, para forçar o silêncio em toda a sala, mas dessa vez foi instado a falar mais alto. Cautelosamente, ele então elevou a voz e disse que no caso de um rei enviuvar tão cedo como Sverker, certamente, iria procurar uma nova rainha. Se isso tivesse que acontecer, era melhor que a nova rainha fosse da família folkeana do que uma estrangeira, certo?
Não era nada certo, achava Magnus Mâneskõld, furioso. Isso porque o rei, ao ficar viúvo, era muito provável que fosse buscar e casar-se com qualquer rainha viúva ou alguma velhota dinamarquesa e não uma reprodutora de crianças no seu auge, retirada, roliça e fresca, de um depósito monástico.
Eskil pediu, então, a palavra, e disse que uma estupidez feita não poderia ser desfeita. E que agora, já realizada a festa de noivado, qualquer tentativa de voltar atrás seria um insulto que conduziria, certamente, à guerra, já que o rei Sverker poderia dizer que o juramento que lhe foi feito estaria quebrado. Portanto, era preciso cumprir com o prometido e rezar para que Ingegerd reproduzisse uma longa série de filhas, até terminar o sêmen de Sverker.
Quando a palavra guerra era pronunciada na sala, vários dos jovens parentes se incendiavam e começavam a murmurar que talvez fosse melhor atacar do que se defender. E, então, viraram-se para Arn, querendo ouvir o que ele teria a dizer. Tantos eram os jovens de muitos burgos folkeanos que tinham estado em Forsvik ou ainda se encontravam lá, aprendendo, que todos tinham por certo que Arn Magnusson seria o líder na próxima guerra.
Arn respondeu lentamente que todos estavam presos por seu juramento perante o rei Sverker até que este descumprisse o seu. Se Sverker fizesse de uma folkeana a sua nova rainha, certamente não estaria quebrando o seu juramento. Portanto, não havia nenhuma razão aceitável no momento para se fazer a guerra.
Além disso, seria uma estupidez. O que aconteceria se alguém fosse a Näs e matasse o rei? Isso significaria talvez não apenas a guerra contra a Dinamarca, mas também a excomunhão pelo arcebispo Absalon, em Lund, de um ou outro folkeano. Atualmente, o assassinato de um rei valia a excomunhão. Até mesmo a discussão sobre quem devia ser escolhido arcebispo ou quem devia coroar o rei valia também a excomunhão. Isso tinha atingido duramente o rei Sverre, da Noruega, como todos sabiam. E, assim, a união entre folkeanos e noruegueses ficou enfraquecida. Apenas no caso de o rei Sverker quebrar o seu juramento poder-se-ia, sem esse perigo, entrar em guerra contra ele.
As objeções de Arn foram, ao mesmo tempo, inesperadas e estimulantes, de modo que a assembléia se tranqüilizou. Birger Brosa tentou, então, recuperar um pouco do seu antigo poder, dizendo peremptoriamente, da importância de todos na sala pensarem bem que, ainda que a guerra estivesse mais próxima, o tempo de espera seria grande. Era bom que esse tempo fosse usado para os necessários preparativos. Em especial, mencionou ser importante mandar mais jovens para Forsvik para aprender e que deviam ser encomendadas mais armas de Forsvik, encomendas a serem feitas por todos os burgos folkeanos.
Nada de errado com a sensatez dessas palavras, consideraram todos. Mas era como se o longo mandato de Birger Brosa na assembléia da família tivesse sido interrompido. E foi isso que ele próprio também sentiu ao deixar a sala em primeiro lugar, tal como mandava a tradição. As suas mãos e a sua cabeça tremiam como se ele tivesse assustado ou à beira de um colapso.
O ano da graça de 1202 tornou-se o ano das mortes. Era como se os anjos de Deus tivessem descido para secar a grama e preparar a terra para poderes totalmente novos. O rei Sverre da Noruega morreu nesse ano, lamentado por uns, odiado por outros, em partes iguais. Isso tornou a união dos folkeanos e dos erikianos com a Noruega mais fraca e incerta.
Até mesmo o rei Knut da Dinamarca também morreu e seu irmão, Valdemar, foi coroado em seu lugar, com o cognome de o Vitorioso. E este cognome não lhe foi dado sem merecimento. Ultimamente, havia conquistado Lübeck e Hamburgo, que agora pertenciam à coroa dinamarquesa. E várias viagens ele fez com seus guerreiros a Liviand e a Kurland. Por toda parte, os seus exércitos alcançaram a vitória. Como inimigo, ele seria, na verdade, terrível de enfrentar.
Como se Deus quisesse brincar com os folkeanos, os erikianos e todo o povo das Götalands Ocidental e Oriental, não existia qualquer perigo de Valdemar, o Vitorioso, chegar do sul, da Escânia, devastando e incendiando tudo. O rei Sverker era o homem de confiança dos dinamarqueses e o seu país não precisava ser conquistado, enquanto ele fosse o rei. Para ele, não seria nada de mais que todo o comércio das suas províncias com Lübeck passasse a ser taxado pela alfândega dinamarquesa. Tal como Eskil Magnusson uma vez murmurou entre dentes, sentado diante das suas contas, agora era preciso pagar imposto pela paz.
Mas a maior tristeza para os folkeanos chegou logo em janeiro desse ano, com a morte de Birger Brosa. Ele não ficou por muito tempo no seu leito de morte e poucos foram os parentes que chegaram a tempo de se despedir dele. Mas mais de mil folkeanos acompanharam o seu venerado conde na sua derradeira viagem para Varnhem. Eles se reuniram em Bjälbo e seguiram como um longo exército azul por cima dos gelos do lago Vättern até Skövde e, depois, em frente, para Varnhem.
Da maioria dos burgos folkeanos, chegaram apenas os homens, visto tratar-se de uma viagem feita com um frio cortante. De Arnäs, Forsvik, Bjälbo e Ulväsa veio todo o pessoal da casa. Mulheres, crianças e uma parte dos idosos como o velho senhor Magnus, de Arnäs, seguiram em trenós cobertos com muitas peles de lobo e carneiro. E muitos dos cavaleiros também deviam ter gostado de viajar de trenó, visto que as malhas de aço viraram gelo contra o corpo e a cada parada as dores eram mais intensas do que o descanso.
De Forsvik, chegou Arn Magnusson à frente de quarenta e oito cavaleiros jovens, os únicos no acompanhamento do funeral que pareciam não ser afetados pelo vento gelado, apesar de eles terem vindo completamente armados. Estavam usando roupas especiais de guerra para inverno, sem nada de ferro ou aço junto ao corpo. Nem mesmo os seus pés revestidos de ferro pareciam sofrer com o frio.
O rei Sverker não foi a Varnhem. E a esse respeito podia-se chegar a várias conclusões. Ele não tinha conseguido reunir um séquito maior do que duzentos homens e isso teria sido pouco em comparação com o séquito dos folkeanos. E na recepção oferecida pela ocasião, ninguém podia garantir que nenhum dos mantos vermelhos se excedesse nas palavras e provocasse o desembainhar de alguma espada, o que teria conseqüências imprevisíveis. Visto por esse lado, o rei Sverker fora sensato e cauteloso não vindo ao funeral do velho conde.
No entanto, era difícil não achar que o rei tinha demonstrado muito pouco respeito por Birger Brosa e, por conseguinte, por todos os folkeanos, ao considerar a morte do conde apenas como um acontecimento familiar.
Birger Brosa foi enterrado perto do altar, não muito longe do rei Knut, a quem ele serviu pela paz e pelo reino durante muitos anos. A missa pela sua morte foi longa, em especial para aqueles de seus parentes que não obtiveram lugar dentro da igreja, tendo que ficar do lado de fora, mais de duas horas, debaixo de neve.
Não demorou muito tempo, entretanto, para que trezentos desses acompanhantes de Birger Brosa voltassem a Varnhem com a mesma finalidade. O velho senhor Magnus de Arnäs reagiu mal à viagem no frio para enterrar o seu irmão. Já tossia e tremia no dia seguinte à sua volta a Arnäs, onde ficou junto de uma grande lareira no andar mais alto na nova moradia. Nunca mais se recuperou e quase não houve tempo de chamar o padre de Forshem para a extrema-unção e absolvição de seus pecados antes de ele morrer. Ele acenava sempre com a mão, que não era preciso, afastando a idéia de que o pior estaria por vir. Um pouco de frio, um folkeano sempre tolera, assegurava ele, a toda hora. Alguém disse que essas foram as suas últimas palavras.
A tristeza baixou pesado sobre Forsvik durante os quarenta dias de jejum antes da Páscoa. O trabalho continuou no seu ritmo normal, no moinho e nas oficinas, mas raramente se ouviam risos, gargalhadas ou piadas como era costume. Era como se a tristeza dos senhores tivesse sido espalhada por todos os outros.
Arn passou menos tempo do que era normal realizando exercícios com os jovens senhores. De certa maneira, já esperava isso. Muitos deles já eram agora homens adultos e já tinham vários anos de treino no ensinamento aos seus parentes mais jovens. Sune, Sigfrid e Bengt tinham preferido ficar em Forsvik como professores a se retirar para os seus próprios burgos, o que, pelo menos, Bengt e Sigfrid poderiam ter feito.
Por existirem novos professores para os jovens senhores, não se sentia tanto a falta do irmão Guilbert entre os exercícios de cavalaria e com a espada como no início. Ele ficava agora mais na sacristia recém-construída da igreja onde dava aulas para Alde e Birger. Já todas as leccionis eram dadas em latim.
Totalmente sem questionamentos as aulas do irmão Guilbert não ficaram, depois que Cecília, uma vez, foi saber que ele tinha estado nas oficinas e feito dois arcos para crianças e foi para trás da igreja, estimulando-os a tentar acertar numa pequena bola de couro que ele pendurou num fio bastante fino. Perante Cecília, ele se defendeu, dizendo que o tiro ao arco era uma arte que aprimorava os sentidos e que era muito útil essa capacidade ao enfrentar a lógica na filosofia ou na gramática. Desconfiado, quando Cecília foi falar com Arn para perguntar sobre o assunto, ele concordou entusiasticamente com as palavras do irmão Guilbert, de tal maneira que ela pouco menos ficou desconfiada.
Cecília achava que mesmo assim havia uma grande diferença entre Alde e Birger. A seu tempo, ela iria ser a dona da casa em Forsvik ou em algum outro burgo. Aquilo que esperava Birger Magnusson no futuro, evidentemente, ninguém podia dizer com certeza absoluta, mas como filho mais velho de uma família folkeana renomada e com a mãe aparentada com a casa real, era fácil de imaginar que o tiro ao arco, o cavalo e a lança teriam grande importância na sua vida. Mas daí a que a sua filha Alde fosse aprender coisas da guerra era um grande passo.
Arn tentou apaziguar Cecília, assegurando que o tiro ao arco não servia apenas para fazer a guerra, mas também para caçar e que existiam muitas mulheres que eram boas caçadoras. Nenhuma mulher devia se envergonhar de mandar servir na mesa um pato ou um veado por ela abatido. E no que dizia respeito a Birger, a sua escola na vida iria mudar muito até ele chegar aos treze anos de idade e entrar para o grupo dos jovens senhores como principiante.
Cecília mostrou-se satisfeita com essa explicação até o momento em que, um dia, foi encontrar o irmão Guilbert, depois de ter feito pequenas espadas de madeira, incentivando Alde e Birger a se atracarem aos golpes de espada, no maior entusiasmo, diante de um professor falando e gesticulando intensamente.
Arn concordou que a espada não era, certamente, a coisa mais indicada para a sua filha aprender. Mas o ensino de crianças não era uma coisa assim tão fácil e que o irmão Guilbert era um professor muito exigente, isso ele sabia por experiência própria. E que não havia nada de errado em, de vez em quando, passar da gramática para algum tipo de brincadeira. Isso porque uma mente saudável exigia um corpo saudável, o que era uma eterna sabedoria da humanidade.
Choro e discussão também ocorreram quando Birger recebeu de presente o seu primeiro cavalo aos sete anos de idade e Cecília proibiu Alde de montar até ela fazer no mínimo doze anos. Os cavalos não constituíam exatamente um brinquedo sem perigos e isso já se sabia muito bem justamente em Forsvik, onde através dos anos aconteceram muitas feridas e muito choro depois de jovens cavaleiros caírem e se machucarem, às vezes tão mal que acabaram na cama por algum tempo. Para os homens jovens que aprendiam a arte da guerra, era um perigo que eles tinham que enfrentar. Mas esse não era o caso, certamente, de Alde.
Arn tinha ficado entre a filha e a mãe, uma tão decidida quanto a outra, e ambas estavam habituadas a levá-lo para onde elas queriam. Mas na questão de saber quando Alde devia receber o seu primeiro cavalo só uma podia vencer. E foi Cecília.
Arn tentou consolar a filha, montando com ela na sua frente na sela, e avançando tranqüilamente e devagar sempre que estavam à vista de Forsvik e a todo o galope e a uma velocidade que só os cavalos árabes conseguiam atingir, sempre que estavam longe da vista de Forsvik. Era, então, que Alde gritava de entusiasmo e se satisfazia pelo menos por algum tempo. De certo modo, isso provocava remorso em Arn por seduzir Alde com a velocidade. Existia o perigo real de ela tentar fazer o mesmo assim que tivesse o seu próprio cavalo e alta velocidade era a última coisa e não a primeira que a pessoa devia tentar fazer ao aprender a cavalgar.
Na Páscoa, a pequena igreja de madeira em Forsvik foi revestida de tapeçarias escuras por Suom, em representação do sofrimento de Nosso Senhor no Gólgota, da Sua passagem pela Via Dolorosa e da Sua última ceia com os apóstolos. Arn continuava a ter dificuldades em aceitar uma Jerusalém que se parecia mais com Skara e uns apóstolos que pareciam retirados da praça mais próxima da Götaland Ocidental. Idiota o bastante para fazer um pequeno comentário sobre o caso, logo teve de ouvir de novo toda uma palestra completa por parte de Cecília, afirmando que, em arte, aquilo que se via na imagem não era a verdade, mas aquilo que o observador imaginava que era a verdade. Embora contrariado, ele cedeu na discussão, mais para se livrar do embate do que por convencimento. Continuava a ter dificuldades em aceitar imagens de Deus dentro de casa, achando que perturbavam a pureza dos pensamentos.
A primavera chegou tarde naquele ano que seria lembrado como o das mortes e os gelos à volta de Forsvik e no rio não ofereciam suporte suficiente nem quebravam. Os cristãos tiveram então que festejar as missas da Páscoa mesmo em Forsvik. Mas ruim não foi, visto que o irmão Guilbert sabia desempenhar todas as funções de um padre e, além disso, tinha cantores muito bons para ajudá-lo, pois, não apenas Arn, mas também as duas Cecílias tinham todos os salmos na cabeça, tanto quanto ele próprio. Ainda que a igreja de Forsvik não tivesse aquela imponência para impressionar o mundo, parecendo mais uma igreja norueguesa feita de aduelas, era fácil imaginar que as missas da Páscoa ali realizadas no ano das mortes de 1202 foram cantadas melhor do que em todas as igrejas da Götaland Ocidental, com exceção daquelas cantadas nas igrejas monásticas.
Depois da cantata de exaltação a Deus e à Sua ressurreição no terceiro dia, realizou-se a refeição da Páscoa para todos os cristãos no novo salão de festas. Foi como se as nuvens de tristeza se desfizessem e não apenas porque o jejum tinha terminado, e o Nosso Salvador, ressuscitado. A maneira sarracena de cozinhar a carne de cordeiro provocou a admiração de todos.
Primeiro, estava na hora de festejar também o fato de Marcus Wachtian ter trazido consigo uma esposa alemã. Ela se chamava Helga e era também de Lübeck. Quando seu irmão Jacob viu nascer os seus próprios filhos e se tornou mais arredio a fazer as longas viagens duas vezes por ano para as cidades alemãs, Marcus se mostrou disposto a assumir essa tarefa. Evidentemente, ele trouxe para casa muitas coisas que fizeram a alegria, tanto quanto foram de utilidade para Forsvik, desde grandes bigornas que não podiam ser fundidas em casa ou materiais para espadas de uma espécie chamada Passau, com a marca de um lobo correndo. Esses materiais eram de aço muito bom que podia ser moldado e limpo de uma maneira muito rápida e fácil e transformado em espadas. Quando Cecília calculou quanto custava fazer uma espada totalmente em casa ou comprar essas espadas meio prontas e poder terminá-las, verificou que saía mais barato no segundo caso. Ela calculou não apenas o ganho decorrente do custo menor, mas também o ganho em tempo que podia ser usado na produção de outros produtos que davam receita em prata. Era uma nova maneira de calcular, mas os irmãos Wachtian e Arn concordaram com o ponto de vista de Cecília, de que os cálculos estavam certos e corretos.
Entre tudo o que Marcus trouxe para casa das cidades alemãs, o que ele mais apreciava era Helga. E não só. Também fazia graça, dizendo que ela foi a única coisa pela qual os dinamarqueses não o obrigaram a pagar taxas de alfândega na saída.
Foi uma boa festa, com os primeiros risos desde há muito tempo em Forsvik. Arn sentou-se no lugar de honra entre as duas Cecílias e com Alde e o pequeno Birger um pouco abaixo. Ao lado dos irmãos Wachtian e suas esposas alemãs, ficou Gure que se deixou batizar logo que libertado, e o irmão Guilbert. Mais adiante na sala, em duas mesas compridas, sentaram-se quase sessenta jovens senhores nas cores folkeanas. E com o passar do tempo e a vazão da cerveja, os risos se transformaram numa algazarra.
Cecília mandou trazer vinho e copos para a sua casa que era também a de Arn e convidou todos os mais velhos a continuarem lá a festa, já que a agitação dos jovens senhores certamente não iria ficar menor com o passar da noite.
Eles beberam e conversaram até tarde na noite, mas, então, Arn se desculpou, dizendo que precisava dormir, pois tinha de se levantar cedo para um dia de muito trabalho. Todos os outros fizeram expressões de espanto e ele teve de explicar que na manhã seguinte, logo depois do amanhecer, iria convocar os jovens senhores para um exercício de cavalaria. Eles tinham aprendido, ao que parece, a beber cerveja como homens. Agora iam ter que aprender quanto custava em dores de cabeça, se na manhã seguinte tivessem que fazer jus ao que comessem e bebessem.
Foram Alde e Birger que encontraram o irmão Guilbert. Estava sentado, com a pena de escrever na mão, tranqüilo, um pouco inclinado para trás, na sua sacristia, onde recebia o sol da manhã. E parecia que estava dormindo. Mas quando as crianças não conseguiram acordá-lo, foram até Cecília para reclamar. Logo em seguida, houve grande agitação em Forsvik.
Assim que compreendeu o que tinha acontecido, Arn seguiu para a câmara de roupagens sem dizer uma palavra e fez descer o manto mais amplo dos templários. Pegou uma agulha e fio grosso nas oficinas e costurou ele mesmo o morto no manto. Mandou selar o cavalo mais amado do irmão Guilbert, um forte garanhão baio da espécie que agora servia para treinar a cavalaria pesada, e ajustou depois sem grande estardalhaço o seu amigo falecido em cima da sela, um grande saco branco com os braços e as pernas, cada coisa para o seu lado. Enquanto mandava selar o seu Abu Anaza, Arn vestiu o uniforme completo com todas as armas, mas não com as cores folkeanas, antes com as cores dos templários. À volta da sela, pendurou um saco de água da espécie que apenas os cavaleiros de Forsvik usavam e uma bolsa com ouro. Meia hora depois de o irmão Guilbert ter sido encontrado morto, Arn estava pronto para seguir caminho para Varnhem.
Cecília tentou objetar, dizendo que essa não era bem a maneira honrosa e cristã de acompanhar o amigo de uma vida inteira para a cova. Arn respondeu a ela, tristemente e em poucas palavras, que assim tinha que ser. Assim voltavam muitos templários, com a ajuda dos irmãos. E poderia ter sido muito bem o irmão Guilbert a cavalgar assim com ele. E também não era a primeira vez que Arn conduzia para casa um irmão desse jeito. E o irmão Guilbert não era um monge qualquer, mas sim um templário que viajava para a sepultura como muitos outros irmãos tinham feito antes e muitos outros iriam fazer depois dele.
Cecília entendeu que contra isso não adiantariam objeções. Em vez disso, tentou mandar arrumar comida para Arn levar na viagem. Mas Arn rejeitou a idéia quase com desdém e apontou para o seu saco com água. Nada mais foi dito antes de ele partir de Forsvik, de cabeça baixa, com o irmão Guilbert a reboque.
Foi muito duro para Arn perder em tão pouco tempo o tio e o pai-Foi duro para ele, assim como seria duro para qualquer outra pessoa. Também o próprio Arn achou que se a morte lançasse de imediato as suas garras num amigo da vida inteira, a dor iria ser maior, mais forte do que seria possível agüentar por qualquer um.
Mas ainda não tinha andado por muito tempo na companhia do irmão Guilbert — era assim que Arn se sentia — quando ele viu que essa tristeza era ao mesmo tempo maior e mais fácil de tolerar. Certamente, isso teria a ver com o fato de o irmão Guilbert ser um templário, um na longa lista de queridos irmãos que Arn perdera durante uma longa seqüência de anos. Na pior das hipóteses, ele tinha visto suas cabeças nas pontas das lanças em mãos de sírios ou egípcios intoxicados pela vitória e aos gritos. A morte de um templário não era como a morte de qualquer pessoa, visto que os templários viviam sempre na sala de espera da morte, sempre sabendo que eles próprios poderiam ser chamados no momento seguinte. Para aqueles irmãos que receberam a graça de viver incompreensivelmente muito, sem terem fugido ou transigido com a sua consciência, como o irmão Guilbert ou o próprio Arn, não havia razão nenhuma para a mínima reclamação. Deus reconhecera agora que a obra da vida do irmão Guilbert estava pronta e Ele chamou então um dos Seus mais humildes servidores para junto de Si. No meio do seu bom trabalho, com a pena de escrever na mão e tendo acabado naquele momento uma gramática de latim para crianças, o irmão Guilbert abaixou a mão, enxugou a tinta pela última vez e morreu em seguida, com um sorriso pacífico nos lábios. Foi uma graça de Deus ter morrido assim.
Em contrapartida, havia muita coisa mais difícil de tentar entender no que dizia respeito ao caminho que o irmão Guilbert teve de trilhar na sua vida na terra. Durante mais de dez anos, fora templário na Terra Santa, e poucos irmãos combatentes tiveram uma vida tão longa quanto a dele. Fossem quais fossem os pecados que o jovem Guilbert teve no seu passado, quando entrou em combate pela primeira vez com o manto branco, o certo é que logo os teria pago mais de cem vezes. E, no entanto, não foi concedida a ele a honra de ter sido chamado via direta para o Paraíso, que era a recompensa máxima para qualquer templário.
Deus guiou-o, em vez disso, para um recanto do mundo onde foi professor de um folkeano de cinco anos de idade, para educá-lo Para templário e depois, contra todos os sentidos e contra toda a sensatez, acabou trabalhando com ele para outras finalidades totalmente diferentes vinte anos mais tarde.
No entendimento de Arn, a sua própria trajetória não tinha nada de incompreensível, já que a própria Mãe de Deus lhe tinha dito o que devia fazer: construir pela paz e construir uma nova igreja dedicada ao Santo Sepulcro. E foi isso que ele tentou fazer, na medida das suas melhores possibilidades.
Ele que tudo vê e tudo ouve, como os muçulmanos diziam, devia saber de tudo o que passava na cabeça daquele traidor e sangüinário Ricardo Coração de Leão quando este preferiu decapitar vários milhares de prisioneiros a receber a última parcela de um resgate no valor de cinqüenta mil besantes em ouro. Deus devia saber que esse ouro iria parar na Götaland Ocidental e do que ia ser feito com ele aqui. Depois de acontecido, era possível, muitas vezes, seguir e entender a vontade de Deus.
Mas agora ao cavalgar na direção de Varnhem e da sepultura do irmão Guilbert, o futuro continuava tão difícil de prever como sempre. O tempo de serviço do irmão Guilbert tinha terminado e Arn não conseguia pensar em nada, a não ser que um bom homem, com mais de dez anos de serviços prestados no próprio exército de Deus, tinha um lugar reservado no reino dos céus como recompensa.
O que lhe estava reservado, para ele, Arn, ele não sabia. Será que Deus queria, realmente, que ele vencesse o rei dinamarquês, Valdemar, o Vitorioso? Muito bem, tentaria fazer isso. Mas o que preferia era ver se o poder armado que ele construiu seria suficientemente forte para manter longe a guerra. O melhor que podia acontecer em Arnäs era ver que a fortaleza ali construída era tão grande que nenhum sitiante ousaria cercá-la. E que nunca uma única gota de sangue se perderia nesses muros. O melhor que poderia acontecer a esse exército de cavalaria que ele estava criando era nunca precisar atacar.
Se ele tentasse pensar em revista, clara e friamente, todos os seus desejos, a situação não estava nada boa. Logo depois da morte de Birger Brosa, o rei Sverker, diante do conselho em Näs, nomeou o seu filho Johan, recém-nascido do seu casamento com Ingegerd, para conde-ministro do reino, uma honraria que, por direito, pertencia a Erik, o conde, e a ninguém mais. O que o rei Sverker tinha por intenção fazer com o seu filho recém-nascido não era difícil de ver. E, em Näs, Erik, o conde, e seus irmãos mais novos eram mais tidos como prisioneiros do que como filhos de criação do reino.
As orações constituíam o único caminho para a clareza e a orientação, reconheceu Arn, resignado. Se Deus quisesse, o rei Sverker devia cair morto no momento seguinte e tudo terminaria sem guerra. Se Deus quisesse, de outra maneira, estaria à vista a maior guerra que jamais teria atingido a Götaland Ocidental.
Arn começou a rezar e rezou durante todo o caminho para Varnhem. Pernoitou no meio de uma floresta, fez uma fogueira, deitou o irmão Guilbert a seu lado, e continuou as suas orações, pedindo por clareza e esclarecimento.
No caminho entre Skövde e Varnhem, numa região que não era mais deserta, muitos ficaram pasmados ao ver o cavaleiro vestido de branco, com a marca de Deus, e com a lança atrás na sela e uma expressão severa no rosto pendente, passando sem ver nem saudar ninguém. Que o cadáver que ele estava levando atrelado também usasse o mesmo manto estranho não facilitava o reconhecimento. Era assim que os ladrões eram levados para a assembléia e para julgamento. E não um ser igual entre as gentes de valor.
Arn ficou durante três dias no mosteiro de Varnhem para a missa de corpo presente, os cânticos de salvação da alma e o sepultamento. O irmão Guilbert recebeu a honra de ficar sepultado sob o claustro num lugar ao lado do padre Henri.
Quando voltou para Forsvik, quase uma semana mais tarde, Arn chegou na companhia de um jovem monge com muitas dores de cavaleiro improvisado no cavalo do irmão Guilbert. Era o irmão Joseph d'Anjou, que iria ser o novo educador de Alde e Birger.
A morte não soltou as suas garras de Forsvik nesse ano triste de 1202. Pouco antes do dia de Todos os Santos, a mãe do capataz Gure, a competente tecelã e costureira Suom, estava à morte. Gure e Cecília ficaram ao seu lado, junto da cama, mas o padre Joseph, esse, ela rejeitou, decidida, até que lhe faltaram as forças e ela se deixou convencer por Cecília e seu filho e se deixou batizar e confessou seus pecados antes da morte. O batizado, ela não tinha nada contra, mas confessar seus pecados foi mais difícil. Para ela, os que viviam a maior parte da sua vida como escravos, não tinham muitas oportunidades para cometer aqueles atos que os senhores consideravam como pecados. Finalmente, no entanto, o irmão Joseph conseguiu falar com ela a sós e receber a sua confissão, o que lhe permitiu dar a ela o perdão dos pecadores e prepará-la para a vida depois da morte.
Entretanto, ele voltou muito pálido e disse para Cecília que a confissão, evidentemente, o impedia de abrir a boca, mas que ele não sabia o que seria melhor, se deixar que essa mulher levasse para a cova o seu grande segredo ou estimular Cecília para que tentasse extrair dela esse segredo. Essa meia revelação que, segundo Arn, quando ouviu falar dela, já era um atentado contra o compromisso de silêncio da confissão, deixou Cecília, como era de esperar, sem o menor descanso. O que é que uma mulher, escrava de nascença, e livre apenas nos últimos anos de sua existência, podia ter guardado como segredo na vida?
Cecília tentou convencer-se de que não era pura curiosidade da sua parte, mas, sim, vontade de esclarecimento, quando começou a fazer suas perguntas a Suom, cada vez mais fraca. Se alguma coisa estava errada, os que ficassem podiam sempre tentar fazer uma correção, e esse serviço, sem dúvida, era uma dívida que ela tinha de pagar para a sua querida Suom, raciocinava ela. Suom tinha espalhado muita beleza por Forsvik, com a arte e a competência das suas mãos. Prata, também ela tinha produzido como receita e já havia duas costureiras bem avançadas na trilha que a Suom tinha aberto. Se houvesse necessidade de consertar alguma coisa que a Suom tivesse deixado para trás, ela se encarregaria disso, decidiu Cecília.
Aquilo que ela, finalmente, acabou sabendo, deixou-a, no entanto, pensativa. Tinha acabado de herdar um segredo que não podia, de forma alguma, suportar em silêncio para a vida inteira. Também não seria uma coisa fácil de contar para Arn, em especial por sentir de imediato que o que ouviu podia acabar numa discussão com o seu marido. Seria a primeira discussão entre eles.
Ela foi primeiro para a igreja e rezou a sós no altar para Nossa Senhora, pedindo apoio para fazer o bom e o correto e não o que era errado e egoísta, atendendo às circunstâncias terrenas. Como acreditava saber que Nossa Senhora demonstrava não apenas para com ela, mas também para com Arn, toda a sua compreensão e boa vontade, ela rezou para Arn se controlar e, inteligentemente, receber o esclarecimento que lhe era devido.
Então, decidida, Cecília dirigiu-se diretamente para a casa das armas sem paredes onde ela sabia que Arn devia estar àquela hora do dia entre os mais velhos dos jovens senhores. Ele logo a avistou pelo canto do olho, embora parecesse cegamente ocupado com o jogo de espadas. Fez uma vênia para os seus jovens adversários, embainhou a espada e avançou logo na direção dela. Não era difícil ler no rosto dela o que as notícias eram importantes. E, por isso, ele logo a conduziu para o meio da praça onde ninguém poderia ouvir a conversa deles.
— Não aconteceu nada de grave à nossa Alde, certo? — perguntou ele, recebendo dela como resposta apenas um aceno negativo da cabeça. — Suom já morreu, você quer que ela seja sepultada aqui em Forsvik ou em algum outro lugar? — continuou ele, cautelosamente.
— Eu ouvi dos próprios lábios de Suom aquilo que ela confessou para o irmão Joseph — sussurrou ela no ombro de Arn como se, realmente, nem ousasse olhar para ele.
— E o que foi? -— perguntou ele, cordial, enquanto cautelosamente a afastava do seu corpo para olhar bem nos seus olhos.
— Gure é seu irmão e de Eskil. O senhor Magnus foi o pai de vocês três — respondeu Cecília, rápido, virando logo o rosto, como se ela se envergonhasse por ter dito a verdade. Sim, porque no mesmo momento em que ouviu a história da boca de Suom, ela soube que era verdade.
— E você acha que isso é verdade? —— perguntou Arn, em voz baixa, sem o mínimo traço de irritação na voz.
— É verdade, sim — respondeu ela, olhando nos olhos dele. —-Lembra que Gure é cerca de seis anos mais novo do que você. Quando seu pai se recuperava da morte da senhora Sigrid, Suom era jovem e, certamente, a mulher mais bonita de Arnäs. E a semelhança entre Gure e você e Eskil é tão grande que só o conhecimento de nossa parte de que ele nasceu como escravo nos impediu de a notar.
Cecília respirou fundo, pegando ar, depois de ter dito tudo, tal como Nossa Senhora a tinha aconselhado, de uma vez e sem rodeios, a verdade e nada mais do que a verdade.
Arn não respondeu. Acenou primeiro com a cabeça, pensativo, como que confirmando tudo. E aí virou-se e seguiu a passos largos em direção à igreja. Entrou e fechou a porta atrás de si. Cecília ficou aliviada e cheia de emoção contida ao ver como ele tinha recebido a notícia, estando certa de que lá dentro, junto do altar, estaria esperando uma boa e suave Mãe de Deus por aquele de seus filhos para quem Ela já tinha feito tantas demonstrações de amor.
Arn não ficou muito tempo lá dentro. E Cecília estava esperando por ele, junto do poço, na praça, no meio do burgo, quando ele saiu da igreja. Ele sorriu e estendeu a mão para ela. E seguiram para onde Suom estava, na cama, com o irmão Joseph e Gure, ajoelhados, rezando por ela. No entanto, ambos se levantaram diante da chegada dos senhores do burgo. Sem dizer palavra, Arn partiu em direção a Gure e o abraçou. É claro que Gure ficou meio tímido, mas não tão transtornado como se poderia esperar.
— Gure! — disse Arn, em voz alta, para que também Suom ouvisse. — A partir de hoje, você é meu irmão e irmão de Eskil, com todos os direitos e obrigações que isso implica! Eu desejaria apenas ter sabido antes da verdade. Isso porque em nada contribui para a minha honra saber que tive o meu próprio irmão como escravo, ainda que por curto tempo!
— Se a um escravo fosse concedido escolher o seu dono, então, escolhi muito bem — respondeu Gure, ainda timidamente, olhando para o chão.
Foi então que se ouviu um pequeno barulho vindo de Suom, de quem todos tinham desviado o olhar, e Arn dirigiu-se logo para a sua cama, caiu de joelhos e lhe disse diretamente no ouvido que ela estava deixando com eles um grande presente e que Gure seria elevado e integrado na família folkeana na próxima reunião da família. Ela não respondeu, mas sorriu. E esse sorriso não se desfez e ela nunca mais recuperou os sentidos.
Suom foi envolvida por um manto azul antes de descer à cova perto da nova igreja. Todos os cristãos de Forsvik estiveram presentes no seu velório, e foi então pela primeira vez que Gure se sentou no lugar de honra, entre Arn e Cecília.
A sua entrada para o clã folkeano foi rápida. Bastou uma semana depois da morte de Suom para ser convocada uma reunião do conselho de justiça para a parte norte da Götaland Ocidental, em Aske-berga, e isso significava que todos os homens livres podiam apresentar ali as suas questões. Nos últimos anos, essas reuniões tornaram-se cada vez mais apreciadas e atraíam cada vez mais pessoas. Havia muita coisa — para ser discutida e embora essas reuniões tivessem perdido parte do seu peso que mudou para o conselho do rei, elas se tornaram mais importantes para os folkeanos e erikianos que se sentiam cada vez mais empurrados para longe do rei e dos seus conselheiros em Näs.
Para Askeberga, viajaram Arn e Gure, lado a lado, e um esquadrão dos mais velhos dos jovens senhores e ainda Sigurd, que antes se chamava Sigge, e Oddvar, que antes se chamava Orm.
Para integrar um homem no clã numa assembléia era necessário o juramento do responsável pela integração, mais o juramento confir-matório de dezesseis familiares. O esquadrão de Forsvik era formado justamente por dezesseis homens que, embora jovens, eram todos folkeanos. Todos eles avançaram unidos como se fossem um só homem e fizeram o seu juramento com voz firme.
Na assembléia, Arn envolveu no manto azul dos folkeanos, primeiro, o seu irmão Gure, e depois Sigurd e Oddvar, que a partir daquele dia não precisavam mais se vestir de maneira diferente em relação aos outros jovens senhores de Forsvik.
Eskil também estava presente na assembléia. Ele parecia não estar tão satisfeito quanto Arn em ter encontrado um novo irmão, embora se consolasse com o fato de saber que não haveria problema com a herança de seu pai, Magnus, que já tinha sido partilhada antes, na forma da lei.
Que alguém na assembléia questionasse as indicações feitas por Arn seria a esta altura impensável. Se ele quisesse, poderia até transformar as pedras do caminho em membros folkeanos da família, tão fortes eram agora as esperanças dos folkeanos depositadas nele. Ninguém mais duvidava, nessa altura, de que haveria guerra contra o grupo dos sverkerianos e seus amigos dinamarqueses. Era inevitável.
A vida de Sune Folkesson mudou tanto que nem em sonhos poderia ser inventada. Nada do que lhe tinha acontecido no último ano podia ser imaginado antes, nem nos seus momentos mais negros nem nos mais iluminados. Nenhum jovem folkeano podia sentir como ele, ao mesmo tempo, a mesma dor e a mesma paixão no seu peito.
Já tinham se passado dois anos, desde que o senhor Arn o chamara para a sua própria sala em Forsvik e, a portas fechadas, lhe dissera o impensável, que ele devia se transformar em traidor. Devia deixar Forsvik onde tinha passado nove anos da sua vida e onde exercia agora um dos três mais altos comandos, respondendo diretamente perante o senhor Arn, e procurar serviço junto do rei Sverker.
Primeiro, Sune não quis acreditar em seus ouvidos ao escutar essas palavras que, ainda por cima, tinham saído da boca de Arn com voz tranqüila e amiga. Pouco depois, a situação começou a ficar mais compreensível, mas nem por isso menos perturbadora.
Desde que o conde Birger Brosa faleceu, continuou explicando o senhor Arn, lentamente, os folkeanos não tomavam conhecimento do que acontecia em casa do rei Sverker. Com os seus parentes, os erikianos, também não se poderia contar, visto que o mais proeminente,
Erik, o conde, era convidado, mas, na realidade, prisioneiro em Näs e jamais conseguiria sair de lá.
O conhecimento era meia vitória ou derrota, na guerra, e talvez houvesse guerra, visto que, ao que tudo indicava, o rei Sverker iria quebrar o seu juramento, mais cedo ou mais tarde, diante do conselho e da assembléia do reino. Ele tinha feito de seu filho Johan o conde-ministro do reino, desde o tempo em que era apenas um bebê. E era difícil de entender de outro jeito o de ser Johan e não Erik, o conde, o escolhido para ocupar o lugar de soberano do reino. Além disso, ele estava em contato com Valdemar, o Vitorioso, que era o adversário mais temido em toda a Escandinávia. No entanto, Valdemar não era nenhum Saladino e ninguém que não pudesse ser vencido. Mas era aí que o conhecimento da situação era ainda mais importante.
Sune Folkesson tinha possibilidades melhores do que qualquer outro de assumir a pesada tarefa de se apresentar como traidor. Sua mãe era dinamarquesa e ele não possuía nem bens nem ouro nas províncias gotas. Por isso, seria fácil de acreditar que ele, como meio dinamarquês, teria sido tentado a procurar um serviço mais brilhante do que o de simples escudeiro num burgo folkeano.
O senhor Arn salientou que ele devia apresentar a questão justamente desse jeito, que era apenas um simples escudeiro num burgo na floresta, jamais um comandante de três esquadrões de cavalaria ligeira da espécie que os templários usavam. Escudeiro num burgo na floresta, era assim que devia ser. Além disso, quando eles o testassem com a espada e a lança, ele devia evitar demonstrar mais do que o necessário das suas habilidades. Isso iria causar assombro e suspeitas. Ele também não deveria tentar, de maneira alguma, se salientar e procurar ser escudeiro do rei em Näs, isso porque seria suficientemente tentador para os dinamarqueses aceitar um jovem folkeano com sangue dinamarquês.
O pior de tudo era ter de manter em segredo o que eles acabavam de combinar. Tudo ficaria como um segredo apenas entre os dois. Os próprios irmãos de Sune entre os jovens senhores de Forsvik iriam acreditar, por muito tempo, que ele os tinham abandonado e que era de cuspir cada vez que se mencionasse o seu nome, caso fosse mencionado.
Por que razão tinha que ser assim era mais simples de explicar do que entender. Se apenas Arn e ele fossem conhecedores do segredo, de que ele não tinha abandonado sua família e seus irmãos e que apenas era um informante infiltrado em Näs, ele jamais seria atraiçoado. Se os dois se encontrassem em Näs, deviam evitar olhar um para o outro ou mostrar desprezo um pelo outro.
E jamais eles deviam se encontrar ou trocar palavras mesmo no maior segredo, antes de chegar o dia em que Sune devia fugir para contar tudo. E então não seria para contar coisa pequena. Seria para informar quando e onde o exército estrangeiro iria entrar. Quando tivesse que escolher entre a vida e a morte, ele devia voltar para seus parentes para contar o que soubesse, mas nunca antes. Durante o tempo que estivesse em Näs, devia estar atento a tudo o que acontecesse e visse, tudo desde como os dinamarqueses cavalgavam ou qual o tipo de pontas de lança que usavam, tudo o que tivesse alguma importância. Esse tipo de informações tinha a sua importância, mas não valia a pena para justificar a fuga de volta.
Nas mãos do seu filho, Magnus Mâneskõld, Arn deixaria uma carta fechada com sigilo, contando toda a verdade. Se ele morresse enquanto Sune ainda estivesse realizando a sua perigosa missão, a verdade ficaria por herança nas mãos dos folkeanos.
Ele precisava saber com toda a certeza ter condições de se dominar antes de fugir de Forsvik e procurar apoio nas suas orações. Não poderia levar consigo para Näs nada além das suas armas de treino. E para nenhum dos seus irmãos devia falar do assunto, antes de fugir. Ele poderia roubar e levar consigo uma pequena bolsa com moedas de prata, terminou dizendo Arn, jogando a bolsa para as suas mãos.
Sune tornou-se muito calado depois desse encontro e passava mais tempo do que qualquer outro dos jovens senhores na igreja. Numa noite de novembro, bem cedo, entre marinheiros sonolentos, ele subiu a bordo de um barco carregado de farinha e de vidros com destino a Linkõping, mas desceu perto das quedas de Mo e seguiu a pé pela praia oriental do lago Vättern, até encontrar um pescador de trutas que em troca de um bom pagamento o levou para Visingsõ.
Tudo aquilo que o senhor Arn tinha previsto a respeito da boa recepção que ele teria em Näs foi confirmado e até suplantado. Ao se apresentar ao comandante dos escudeiros do rei na manhã seguinte, primeiro, todos riram dele, achando que era muito jovem e pobre. Mas, quando ele disse que era folkeano por parte de pai e dinamarquês por parte de mãe e que já tinha prestado serviços como escudeiro durante muitos anos, a situação mudou. Teve de esperar até que o próprio marechal, um dinamarquês chamado Ebbe Sunesson, tivesse tempo livre para recebê-lo. Daí em diante, tudo correu muito mais fácil do que ele esperava.
Ebbe Sunesson conhecia a sua mãe muito bem, visto ter casado novamente com um homem da família Hvide. E o marechal nem condenava essa mulher dinamarquesa por ela, ao voltar para a terra dos seus ancestrais, ter deixado para trás um filho. Quem poderia saber das dificuldades em retirar um filho das mãos daqueles folkeanos selvagens? Ao mesmo tempo, poderia pensar-se que, se ela tivesse sido bem-sucedida em trazer seu filho, o jovem Sune teria crescido como um verdadeiro dinamarquês. Talvez se pudesse ver a vontade de Deus nesse retorno de Sune para os seus parentes.
Entretanto, o sangue não era tudo. Sune precisava mostrar ser bom escudeiro.
Ele achou as provas fáceis e teve de se esforçar, pensando nas palavras de Arn, para não mostrar qualidades demais, deixando que a presunção sobrepujasse a sensatez. Os escudeiros dinamarqueses que receberam a incumbência de traçar armas com ele eram bem crus, mais do que seria permissível. Qualquer jovem de dezessete anos de Forsvik dificilmente teria problemas com eles.
Já no primeiro dia em Näs, ele pôde se vestir com o manto vermelho sverkeriano, e esse foi o momento mais humilhante da sua vida. À noite, pôde sentar-se à mesa do rei, já que a notícia de um animado folkeano ter aderido aos escudeiros do soberano havia se espalhado como boa.
Foi nessa primeira noite que os olhos de Sune caíram em cima dos de Helena, a filha do rei, e de seus longos cabelos louros. E ela olhou de volta muitas vezes.
Mas, na seqüência, ele não pôde mais sentar-se à mesa do rei, passando a servi-la. As tradições dos dinamarqueses eram muito diferentes das dos gotas. Entre outras coisas, essa de servir à mesa. Não eram os escravos ou os libertos que serviam à mesa do rei à noite, mas jovens rapazes, a que chamavam de pajens. Por isso, Sune teve de começar a sua vida em Näs, não como escudeiro, como ele esperava, mas como alguém que fazia o serviço de escravos.
É claro que poderia ter perguntado se aquilo era um insulto ou não, mas essa questão caía para segundo plano sempre que ele via Helena, e isso acontecia todas as noites, e mesmo que ele nunca chegasse a poder falar com ela, os seus olhares se encontravam cada vez com mais freqüência, num secreto entendimento.
Nessa mesa real sempre se sentavam o rei, a sua nova rainha folkeana, Ingegerd Birgersdotter, e Helena, nos lugares de honra. Junto destes, ficava o marechal do reino, o dinamarquês Ebbe Sunesson. E acontecia que a rainha, de vez em quando, trazia o seu filho, Johan, o conde, sempre vestido como se fosse uma pequena coroa.
Com isso ela estaria ofendendo os quatro filhos erikianos, todos eles sentados no mesmo lugar à mesa, e ela tinha consciência disso. No entanto, fazia questão de falar alto em Johan como conde, enquanto se dirigia a Erik, o conde, como apenas Erik Knutsson. Quem a rainha Ingegerd achava que devia ser o próximo soberano do reino não era difícil de ver.
Erik, o conde, e seus irmãos Jon, Joar e Knut nunca demonstravam qualquer alegria em estar naquela mesa onde cada refeição era um insulto. Quando o rei, por vezes, falava deles como seus queridos convidados, fazia um brinde a eles, fingindo alegria em tê-los ali tão próximo, muitos dos dinamarqueses na sala riam aberta e grosseiramente. Os filhos de Erik eram prisioneiros em Näs e nada mais além disso.
Em relação a Sune, os filhos de Erik demonstravam a maior inimizade e diziam que tinham narizes sensíveis e que o cheiro de traidores não combinava com a cerveja e o assado. Eles, às vezes, bebiam demais, de tal maneira que tinham de ser arrastados para fora. O rei Sverker fazia de tudo para isso acontecer e não era raro pedir mais cerveja quando via que eles não queriam beber mais naquela noite.
Durante o primeiro outono, inverno e primavera, foi quase impossível para Sune ter uma boa noite de sono. Deitava-se numa sala úmida e fria, de pedra, junto com outros dez escudeiros que ressonavam e cheiravam mal. E ficava rolando na sua alcova o tempo inteiro. A vergonha da traição consumia-o, assim como a tristeza de ver os filhos erikianos ficarem bêbados e mostrarem o seu desprezo para com ele. Mas aquela chama com que Helena Sverkersdotter o incendiava consumia-o ainda mais, de modo que ele vivia entre o fogo e o gelo. Se sonhava ao acabar dormindo era com o rosto dela, os seus longos cabelos louros e seus bonitos olhos, mais do que qualquer outra coisa. Por isso, o verdadeiro sono chegava sempre como uma libertação nos casos em que ele, finalmente, conseguia chegar lá.
Antes da festa do midsommar, no meio do verão, aconteceria o décimo oitavo aniversário de Helena Sverkersdotter, que deveria ser festejado com uma grande programação em Näs. Em sua honra, iriam realizar-se torneios dinamarqueses e franceses, combates com tacos de luta e com espadas, coisas de que os simplórios sveas e gotas nada entendiam.
Sune sabia muito bem que devia se afastar o mais possível dessas situações, tal como o senhor Arn o tinha avisado. Mas quando foi anunciado que o vencedor dos jogos teria a honra de como príncipe por dois dias sentar-se ao lado da jovem Helena, usando inclusive uma coroa, durante as festas, ele não pôde mais fazer a sua sensatez ser mais forte do que aquilo que o coração lhe pedia.
O combate ia ser realizado como um jogo francês em que todos os que se sentissem chamados poderiam participar, por sua conta e risco. A grande praça interna do burgo Näs foi limpa, e uma bancada de madeira, erguida ao longo de uma das laterais, onde o rei e os seus convidados podiam ter uma boa visão sobre os participantes.
Sune sofria angustiado ao ouvir os outros escudeiros falando sobre o torneio, de que a maioria estava disposta a participar, a cavalo e com o taco de combate. Para qualquer escudeiro era impossível vencer esse tipo de torneio. Isso era para qualquer dos senhores dinamarqueses fazer, mas já era uma grande honra não ser dos primeiros a cair, mas, sim, dos últimos.
Quanto mais os outros falavam da coisa e descreviam como se devia proceder no torneio, mais impossível se tornava para Sune contrariar a tentação. Por fim, acabou se vestindo como os outros, foi buscar um escudo vermelho, um taco de guerra e o cavalo no qual mais tinha gostado de cavalgar.
As trombetas e os tambores tocaram, dando início ao torneio com o desfile dos quarenta combatentes em volta da praça, passando em frente do rei e dos seus convidados. Dali a uma hora ou mais, apenas um dos cavaleiros continuaria em cima do cavalo. Para estimularem os concorrentes, todos se levantaram, e o rei ergueu a coroa destinada ao vencedor, a coroa da vitória. Nesse momento todos fizeram silêncio e rezaram um pater noster em voz baixa. E, então, soou um sinal estridente e, de repente, toda a praça se transformou numa mistura bem movimentada de cavalos e de combatentes, gritando e arfando, dando golpes uns contra os outros por puro prazer. Logo havia uns doze homens caídos no chão.
Cautelosamente, Sune manteve-se no círculo mais afastado de concorrentes e, de início, apenas tentou escapar dos golpes que lhe foram dirigidos, mais do que executar seus golpes para fazer cair os outros. Com um cavalo de Forsvik, pensava ele, não precisaria nem de elevar a mão contra qualquer deles, mas apenas escapar facilmente até ficar sozinho contra o último ainda a cavalo. Mas o seu cavalo dinamarquês era demasiado lento para uma estratégia ligeira como aquela e precisava ser ajudado através de comandos duros e nítidos dados com as rédeas e as esporas.
À medida que os escudeiros iam caindo, eram retirados do campo por cocheiros que também tentavam apanhar os cavalos soltos que só serviam para perturbar. Quando já metade dos escudeiros tinha caído, os senhores dinamarqueses começaram a se atacar uns aos outros, calculando que o vencedor estaria entre eles e que os restantes escudeiros ficariam mais fáceis de derrubar assim que houvesse mais espaço livre e o risco de um golpe azarento pelas costas diminuísse.
Por isso, Sune teve uma viagem fácil na primeira meia hora. Continuou cautelosamente circulando, evitando os golpes desfechados contra ele, e se movimentando ainda mais para não ser um alvo sentado e quieto.
Só quando restavam apenas dez concorrentes, Sune derrubou o primeiro homem da sela com um golpe desfechado por trás contra o elmo. Isso provocou risos e espanto entre os espectadores, visto que foi um dos senhores dinamarqueses que caiu. Mas, então, aconteceu que os outros também descobriram Sune e o tomaram como alvo principal, visto ser um dos últimos três escudeiros ainda em cima das selas. Logo correram e o caçaram à volta da praça, numa situação que não era totalmente sem perigo para os perseguidores, já que a maioria deles acabou caindo por golpes de combatentes cavalgando em sentido contrário.
Quando restavam apenas quatro senhores e Sune, teria sido mais inteligente se este se deixasse derrubar logo pelos melhores. Parecia, no entanto, que tudo estava arranjado para que vencesse o marechal Ebbe Sunesson, já que ninguém se dispunha a atacá-lo mesmo quando a posição era favorável. Mas a vontade ardente de Sune de se sentar ao lado de Helena era, de fato, muito mais forte do que a sua sensatez. Tinha poupado muito as suas forças e até ali usara apenas metade da sua capacidade. Agora a decisão estava próxima e se ele não quisesse desistir haveria de usar de toda a sua capacidade e conhecimento.
Quando dois dos senhores avançaram contra ele, ficando Ebbe e um quarto dinamarquês quietos na expectativa, Sune entendeu que com a maior seriedade poderia vencer o torneio. Ele cavalgou, dando uma volta na praça, com os dois em sua perseguição. Depois, embicou para dentro, parou o cavalo de repente, levantou-o, obrigando-o a derrubar com as patas dianteiras um dos combatentes, enquanto Sune derrubava o outro da sela com um golpe do taco de guerra na cabeça.
Ebbe Sunesson, então, jogou da sela para o chão o concorrente que estava quieto a seu lado, com as mãos em cima da parte mais alta e anterior da sela e totalmente despreparado para o golpe. Era como se o senhor Ebbe Sunesson quisesse mostrar que ele, certamente, não precisaria de ajuda, agora que ia entrar de verdade na luta. Ebbe cavalgou para a frente e para trás duas vezes em frente do rei e seus convidados, num galope reduzido, enquanto saudava todos com a mão e recebia aplausos, para então se virar para Sune que estava no meio da praça, aguardando o seu contendedor.
Quando o senhor Ebbe, lentamente e certo da vitória, começou a trotar na direção de Sune, para encurtar o espaço antes de desferir o ataque, Sune decidiu tentar uma arte simples, mas decisiva, que todos em Forsvik conheciam. Se o adversário não estivesse preparado ou subestimasse o perigo, era vitória na certa. Agora, se o adversário conhecesse o golpe ou o antecipasse, então, o atacante estaria perdido, sem salvação.
Como se ele estivesse com medo do marechal dinamarquês, Sune deixou-se caçar dando duas voltas na praça até que o senhor Ebbe, cada vez mais certo da vitória, se aproximou por trás e os espectadores gritaram de excitação. Foi então que Sune parou o cavalo, abaixou a cabeça para que o golpe do adversário passasse por cima e, ao mesmo tempo, desfechou o seu golpe contra o peito do concorrente perseguidor. O senhor Ebbe foi jogado para trás à distância de uma lança, caindo de traseiro e costas no chão.
Sune reuniu as rédeas, retirou o elmo, ajeitou as roupas, antes de se aproximar todo sério e se apresentar ao rei Sverker. Fez uma vênia com a mão direita pressionando o coração em sinal de fidelidade ao soberano e, por momentos, fixou o seu olhar nos olhos de Helena, antes de endireitar o corpo. Se a sua sensatez já estava perdida, ficou ainda mais perdida diante do olhar que ele recebeu de Helena.
Furioso, o senhor Ebbe chegou logo, querendo brigar. Que o trapaceiro, candidato a escudeiro, tinha tido sorte e que valia o destino de ser vencedor e que ele agora exigia como segundo colocado o direito de enfrentá-lo pela espada e para decidir a vitória.
O rei, primeiro, olhou em volta, espantado. Parecia que nunca tinha ouvido falar dessa regra especial. Mas alguns dinamarqueses à sua volta acenaram afirmativamente com a cabeça. Se a vitória ainda estava sob dúvida, estava claro que ela teria de ser decidida pela espada. O rei Sverker não pôde fazer outra coisa senão perguntar a Sune se ele aceitava a continuação da luta ou se preferia dar a vitória para o senhor Ebbe, visto que seria perigoso enfrentar um espadachim como ele.
Tão perto estava Sune de passar duas noites perto de Helena que nenhuma sensatez do mundo iria afetar a sua decisão de continuar. Ao voltar para a sala de armas junto da cavalariça, ele foi encontrar um grupo de escudeiros falando ao mesmo tempo, desejosos de lhe dar bons conselhos. A maioria dos conselhos se concentrava em defender o seu pé esquerdo, pois, mais cedo ou mais tarde, o senhor Ebbe sempre atacava esse ponto com a espada. Outros insistiam que era preciso ter cuidado quando o senhor Ebbe se fingia desequilibrado e virava o corpo pela metade. Era aí que ele desfechava o golpe contra o pé ou contra a cabeça do adversário, dando continuidade ao movimento de rotação do corpo.
Na sala de armas, havia vários escudos folkeanos, se bem que sem serem pintados há muito tempo e com defeitos por corrigir. Mas a tentação ficou grande demais quando ele verificou que um deles era perfeitamente semelhante ao que ele usava em Forsvik. Entre as espadas, ele não precisou escolher por muito tempo, visto que os dinamarqueses também não usavam espadas nórdicas como as que se viam nas Götalands, mas, sim, as francesas ou saxônicas iguais às que existiam em Forsvik.
Sune tinha a mesma altura do senhor Ebbe, mas os olhos se confundiam pelo fato de este último ter estado em pelo menos mil banquetes mais do que o primeiro e, por isso, parecia mais poderoso em sua armadura ao avançar e fazer uma vênia perante o rei e a rainha, enquanto Sune, ao levantar os olhos, apenas conseguiu ver os de Helena, preocupados.
Nos primeiros momentos da luta, Sune sentiu ter ficado frio e quase que paralisado de medo. Havia um peso e uma força extraordinários nos golpes do senhor Ebbe e ele atacava com ódio nos olhos como se os dois fossem inimigos no campo de batalha. E as suas espadas não eram de treino, mas bem afiadas. Quando reconheceu que era, realmente, a morte que estava diante de si, amaldiçoou a sua arrogância. Durante alguns momentos, não desfechou um único golpe mais, limitando-se a se esforçar em aparar todos os golpes e se desviar.
Tudo aquilo que os escudeiros haviam dito parecia confirmar-se. Isso porque, dali a pouco, Sune viu o golpe contra o pé esquerdo, por duas vezes. E, por duas vezes, viu o senhor Ebbe fingir ter perdido o equilíbrio, apenas para no momento seguinte rodar o corpo, rápido, e, furiosamente, desferir um novo golpe contra a cabeça de Sune.
O rei Sverker e seus convidados não gostaram nada do que estavam vendo. Um dia de festa não devia terminar em sangue e morte. No entanto, a honra proibia até o rei de se intrometer na luta de homem contra homem, depois de ela já ter começado.
Depois de o combate já ter corrido um bom tempo, Sune começou a pensar com mais clareza, chegando à conclusão de que os ataques, agora, começavam a ser mais lentos. Com o coração na boca, já tinha feito tudo o que aprendera desde criança, mesmo sem tempo para pensar, apenas para contar um, dois, três, para si mesmo, movimentando-se justamente ao contar três, para ver a espada do adversário passar perto da cabeça ou perto do pé esquerdo que tinha acabado de retirar do lugar. Então, ele se encheu cada vez mais de autoconfiança e da certeza de que era um forsvikariano e aquilo que fazia em casa, em Forsvik, podia também fazer ali.
Passou, então, a atacar também, em vez de apenas se defender, empurrando o senhor Ebbe diante de si, não lhe dando nenhum descanso, nem lhe dando a oportunidade de voltar a desferir seus golpes contra o pé ou a cabeça, embora estivesse na hora de ele também começar a pensar em terminar a luta. Isso porque não era difícil saber como perder uma luta dessas. Mas como ganhar? Não teria ele, o sábio senhor Arn, avisado que não era para fazer muito estardalhaço de si mesmo? E se ele matasse o marechal do reino?
Quanto mais eles continuavam a luta, mais a respiração do senhor Ebbe ficava pesada e mais surgia a oportunidade de Sune lhe aplicar um golpe para deixá-lo bem mal. Decidiu, então, não o matar e deixar que a luta continuasse até que o outro não agüentasse mais. Notava-se nitidamente quem tinha o dobro da idade e quem estava cansado em dobro.
Junto do rei, alguns dos fidalgos dinamarqueses já tinham começado a segredar no ouvido dele que a luta, apesar de todos os costumes, devia ser interrompida, antes que acontecesse o pior e terminasse com um desastre. Menos cansado com a continuação da luta o senhor Ebbe não ficaria e o jovem folkeano já poderia ter acabado com ele, se quisesse.
No entanto, o rei não precisou interferir. De repente, o senhor Ebbe levantou a mão e dirigiu-se ao rei, dizendo que perdoava o jovem combatente. Na verdade, acrescentou ele, ainda ofegante, seria ruim ter de matar um jovem tão desenvolto, um jovem que ainda poderia servir ao seu rei em outras oportunidades, em vez de ir para a cova cedo demais.
Com o sorriso mais inocente do mundo, o rei aceitou, pensativo, essas palavras aparentemente nobres e inteligentes e fez sinal para Sune e lhe perguntou se gostaria de aceitar a vitória sob essas condições. Uma porção de respostas loucas passou pela cabeça de Sune como se fossem andorinhas, mas ele conseguiu morder a língua, respondendo, com uma vênia, que era uma grande honra poder receber esse favor do espadachim mais poderoso que ele tinha defrontado e jamais visto.
Era, sem dúvida, a maior mentira que Sune tinha pronunciado desde que chegou a Näs. Mas, pelo menos com uma ponta de bom senso, ele tentou equilibrar a sua loucura.
Todavia, talvez fosse essa loucura de Sune que salvou o futuro reino. Do jeito que os acontecimentos se encaixaram depois numa longa cadeia, salvaram-se muitas vidas, embora muitas mais tivessem perecido.
Durante duas longas noites, antes de se recolherem, cada um para o seu lado, Sune ficou sentado ao lado de Helena, com a coroa da vitória na cabeça. E esse tempo foi mais do que suficiente para que a brasa que ardia nos dois se transformasse logo em altas chamas.
Nessas duas noites, em que, evidentemente, estiveram diante dos olhos de todos, necessitando se comportar segundo as regras, eles puderam confessar seus sentimentos recíprocos. E não só. Combinaram entre si coisas mais terrenas, como se encontrarem a sós em uma sala ou em algum lugar o mais parecido com uma sala possível, desde que ousassem fazê-lo.
Helena era filha do rei e ainda estava muito longe de ser decidido para que casamento ela devia ser usada. O rei Sverker tinha as suas esperanças de poder casá-la com o rei dinamarquês, Valdemar, o Vitorioso. A esse respeito, as esperanças não eram muito grandes, visto que um soberano tão poderoso quanto ele devia casar-se com alguém do reino dos francos ou dos germanos. Embora enquanto Valdemar, o Vitorioso, continuasse solteiro, a esperança persistia.
Na pior das hipóteses, Helena poderia casar-se pela causa da paz com algum folkeano ou até mesmo com um erikiano. Enquanto não se tivesse a certeza, ela continuaria amadurecendo e ficaria, talvez, ainda mais bonita do que já era. Na realidade, o rei Sverker já a devia ter deixado em algum dos conventos da família, em Vreta ou Gudhem, para a preparar para o noivado com o homem ainda a indicar por ele. Mas ela era muito querida por ele. Ela lhe relembrava o tempo em que, por variados motivos, ele fora mais feliz do que agora como rei. A mãe dela, Benedikta, tinha sido uma mulher doce e amiga, enquanto a nova rainha, Ingegerd, era dura e grosseira no linguajar, tão desejosa de poder como se fosse um homem. Assim que lhe deu um filho, ela fez todas as artes para não mais recebê-lo em si e o importunava com censuras, não só por problemas de somenos como também com intrigas suficientemente perigosas para custar a vida de todos. Helena era uma espécie de recordação bonita e uma permanente lembrança de tempos felizes. Por isso, não queria deixá-la no convento.
Mas ele teria feito isso, sim, de um momento para outro, se soubesse com quem ela se encontrava durante as noites. Esses encontros, porém, eram quase virtuosos, visto que Helena tinha jurado diante de Deus não deixar que nenhum homem entrasse no seu quarto de dormir durante a noite. O quarto dela tinha servido, antes, como sala do conselho do reino, conselho que fora dilatado a um ponto que teve de mudar de lugar de reunião. Assim, a câmara de Helena ficava bem em cima, na torre oriental das duas que Näs tinha. E era lá que crescia uma forte trepadeira, perfeita para um jovem ardentemente apaixonado subir.
Quando ela acendia duas velas na janela, era o sinal para Sune, que, depois da sua vitória no torneio, ficou com o comando sobre uma parte dos escudeiros. E era para ele muito fácil justificar seus passos junto dos muros, mesmo durante a noite, para verificar se os sentinelas estavam fazendo o que deviam.
Muitos foram os encontros de ambos junto da janela, já que ele jamais entrou no seu quarto, mas, sim, no seu coração. Ele permanecia na janela até que seus braços ficavam dormentes, agarrados à trepadeira, durante tanto tempo. E ainda demorava um bocado para chegar à dormência, pois Sune estava fisicamente bem preparado e mais interessado do que ninguém.
Os dois não desistiam diante da falta de esperança. Recusavam-se a admitir que ela era filha de um rei, destinada a ser presenteada a alguém melhor do que um simples escudeiro. Os dois achavam não ter qualquer importância o fato de um ser sverkeriano e o outro, folkeano. E prometeram um ao outro eterna fidelidade duas semanas depois, quando ele se atreveu a esticar o corpo e a lhe dar o primeiro beijo.
Como se amavam tão desesperadamente quanto ardorosamente, Helena passou a contar para Sune coisas que lhe poderiam custar a cabeça por traição, se alguém ouvisse. Mas era como se ela tivesse apenas uma pessoa em quem confiar. E foi assim que uma noite, já no fim do verão, ele ficou sabendo que os dias de Erik, o conde, e dos seus irmãos estavam contados. A rainha Ingegerd tinha exigido a vida deles para segurança do seu próprio filho, Johan, e seu direito legítimo à coroa do reino. Foram muitas as vezes em que ela, tal qual uma cobra, tinha deixado as gotas do seu veneno nas orelhas do soberano, dizendo saber que os erikianos, na realidade, estavam apenas esperando a hora certa para matá-lo. A toda hora, ela via novos sinais secretos de conspiração, crescendo em Näs.
Finalmente, o rei Sverker cedeu. Os erikianos deviam ser afogados e entregues em Varnhem para serem sepultados e nenhuma marca
devia existir neles de facadas ou punhaladas. A história que deveria ser contada era de eles terem ido pescar trutas no lago e uma das muitas correntes caprichosas do Vättern no outono lhes ter tirado as vidas.
Sune sentiu uma grande tristeza ao ouvir o que ela lhe disse. Talvez não se preocupasse tanto com a sorte dos irmãos erikianos, mas pelo fato de saber que esse conhecimento adquirido ia obrigá-lo a voltar logo para Forsvik e, com isso, a separar-se de Helena. A não ser que arranjasse um jeito de avisar os erikianos.
Nas refeições feitas à noite, Sune costumava sentar-se bem ao lado de Erik, o conde, e seus irmãos, embora todos eles se recusassem a falar com ele. Eles o tratavam como alguém que não viam, tal como um traidor merecia ser tratado. Em voz alta para que todos escutassem, Erik, o conde, lamentou mais de uma vez que Ebbe Sunesson não tivesse tirado a cabeça de Sune no torneio, mas que talvez ainda não fosse tarde demais.
Como se fosse um insulto especial o de se sentar ao lado de Sune, os erikianos se substituíam uns aos outros, diariamente, nesse sofrimento. Uma noite, na vez de Erik, o conde, se sentar ao seu lado, Sune viu chegar a oportunidade que esperava ansiosamente.
— O rei tem a intenção de mandar afogar vocês e dizer que foi uma tempestade que os apanhou quando estavam pescando. E vocês têm pouco tempo para fugir — disse ele, em voz baixa, mas com um sorriso, ao estender para Erik um pedaço de carne, com uma vênia respeitosa.
— E por que razão devo acreditar em um traidor como você? — resmungou Erik, o conde, mas não tão alto.
— Porque sou um homem do senhor Arn e não do rei. E porque o tornarei uma cabeça mais curto se alguém ouvir essas palavras agora ditas entre nós — respondeu Sune, enquanto cortesmente servia mais cerveja de um jarro.
— E para onde devemos fugir? — murmurou Erik, o conde, agora, de repente, mais tenso e sério.
— Para Forsvik. Lá existe defesa e os cavaleiros do senhor Arn respondeu Sune, levantando o seu caneco. — Mas o tempo é escasso.
Erik, o conde, acenou com a cabeça e levantou também o seu caneco para Sune, causando o espanto dos seus irmãos.
Dois dias mais tarde, houve um grande alvoroço em Näs ao se descobrir que Erik, o conde, e seus irmãos tinham fugido. Ninguém sabia para onde, nem como, e de nada serviu chicotearem os guardas de serviço naquela noite.
A desconfiada rainha Ingegerd jogou alguns olhares de viés para Sune. Ela achava ter visto quando Sune e Erik, o conde, falavam em voz baixa contra seus hábitos há pouco tempo. O rei Sverker, por seu lado, achava que era impossível que justo Sune, o corajoso e fiel homem de armas, pudesse ter avisado o grupo de erikianos. Afinal, como é que ele poderia ter sabido do que se passava na cabeça do rei, da rainha e do marechal do reino? Quem dos três podia tê-lo traído num caso desses? Ebbe, cujos sentimentos para com o jovem Sune não eram segredo para ninguém, depois da derrota sofrida no torneio, teria ele confiado o segredo a ele? Caso contrário, teria ele próprio, o rei, ou a rainha, confessado? Não, os erikianos tiveram sorte e isso era tudo. Que eles não tinham nenhuma razão para se sentir nada bem em Näs isso era claro como água.
O soberano fez a única coisa que podia fazer. Prometeu dois marcos em ouro puro para quem desse informações sobre o lugar onde os erikianos estivessem escondidos, visto que engolidos pela terra é que não tinham sido.
Demorou um ano para ele saber que todos os quatro se esconderam em um burgo ao norte da Götaland Ocidental, um burgo folkeano denominado Àlgaräs. Então, deu ordens a Ebbe Sunesson para armar cem cavaleiros e ir buscar os quatro, vivos ou mortos. E que, neste caso, trouxessem-lhe as cabeças.
Sune soube que os erikianos tinham sido encontrados e deviam morrer, naquela mesma noite que seria o seu último momento à janela de Helena. Foi apanhado. A rainha mandou os seus próprios guardas fazerem a vigilância daqueles de quem ela desconfiava mais, a filha do rei e Sune.
Sune foi jogado logo no porão da torre, sem que sequer se preocupassem em molestá-lo muito. Possivelmente, os escudeiros que o levaram devem ter pensado que seria um pecado e uma vergonha se ele não pudesse andar pelas suas próprias pernas para a forca e morrer honrosamente como o homem que mostrara ser.
Lá no porão da torre, Sune ouviu durante a noite o barulho de estribos e de armas, o que significava que os cem cavaleiros do rei estavam se aprontando para partir ao amanhecer e ele amaldiçoava a si próprio. Tinha levado longe demais a sua missão. E lamentava não só que o amor o tivesse levado para a morte e também talvez os quatro filhos do rei, como ainda o estivesse jogando para o desespero, o que era um grande pecado. Aquele que se desesperasse estaria cavando a sua própria sepultura. Começou, então, a rezar a Santo Õrjan, o protetor dos cavaleiros e dos magnânimos.
Quando a noite estava mais escura, ele ouviu uma chave na porta da sua prisão, e dois homens em roupas escuras entraram no buraco onde estava e levaram-no para cima, pelas escadas, de maneira cordial, mas em silêncio. Lá em cima, esperava-o Helena. Os dois se despediram num rápido murmúrio. Ela seria mandada para o convento de Vreta e recebeu dele a promessa de que a iria buscar assim que pudesse. Primeiro, ele tremeu e hesitou diante da idéia de invasão e seqüestro num convento, que era um dos atos mais baixos que um homem podia cometer. Mas ela lhe assegurou que, primeiramente, jamais faria os seus votos. Era filha de um rei e não daria para ser freira. E, em segundo lugar, no dia em que ela visse mantos azuis chegando ao longe, na direção de Vreta, ela iria correr, saindo logo ao seu encontro.
Sune jurou, então, que ele e seus parentes, um esquadrão no total, todos com mantos azuis, e à luz do dia para que fossem vistos bem ao longe, iriam buscá-la em Vreta.
Os dois se beijaram em lágrimas e em seguida ela o afastou com as mãos, desaparecendo na escuridão.
Na fortaleza, embaixo, havia um pequeno barco esperando. O vento vinha do sul e em uma noite o levaria para Forsvik.
Ao amanhecer, Sune foi deixado perto de Forsvik com suas roupas sverkerianas rasgadas e sujas. Os seus dois acompanhantes deixaram logo o porto e tomaram o curso do norte. Eles nunca mais pisariam em Näs e também não precisavam fazê-lo. Helena tinha dado para eles as suas jóias de ouro e pago a eles mais do que suficiente para levarem uma boa vida em qualquer lugar.
Nas primeiras horas da manhã, eram poucas as pessoas em movimento em Forsvik, mas quando um dos jovens senhores ia a caminho da retrete e avistou Sune, correu logo e fez soar o alarme, tocando o grande sino. Alguns momentos depois, Sune estava rodeado de jovens senhores armados e furiosos, jogando para cima dele palavrões e o acusando de traidor. Logo em seguida, foi amarrado de pés e mãos e levado para junto do sino que era o lugar de reunião em caso de alarme. Chegados lá, ele foi obrigado a se ajoelhar enquanto todos esperavam pelo senhor Arn, que veio correndo já usando pela metade o colete de aço.
Quando Arn viu Sune, parou, sorriu e puxou pelo seu punhal. Fez-se um silêncio completo quando ele se dirigiu até o aprisionado Sune e lhe cortou as amarras dos pés e das mãos e o abraçou, beijando o seu rosto de ambos os lados.
Os jovens senhores que estavam agora quase todos no lugar de reunião, com a exceção de alguns retardatários que continuavam chegando enquanto ainda se vestiam, tinham deixado de lado a sua fúria e passaram a olhar uns para os outros, questionando o que estava acontecendo.
— Observem as palavras do Senhor, forsvikianos! — disse Arn, estendendo o braço direito e pedindo atenção. — Aquilo que vocês vêem nem sempre é aquilo que vocês vêem e nunca julguem os outros pelas roupas que vestem. Este aqui é o nosso irmão Sune Folkesson que a nosso serviço e correndo risco de morte foi nosso informante em casa de Sverker em Näs. Foram as palavras de Sune que salvaram a vida de Erik, o conde, e seus irmãos. Por isso, eles vieram até nós, escapando da morte em casa do rei, sem escrúpulos. Todos aqueles que pensaram mal de Sune devem pedir desculpas, primeiro a Deus, e depois ao próprio Sune!
Os primeiros que avançaram para abraçar Sune foram Bengt Elinsson e Sigfrid Erlingsson. Depois, seguiram-se todos os outros.
Arn ordenou, depois, que o balneário fosse aquecido e que novas roupas folkeanas fossem trazidas e que os andrajos vermelhos usados por Sune fossem queimados. Sune tentou objetar que tinha informações urgentes e não havia tempo para tomar banho, mas então Arn acenou com a cabeça negativamente, dizendo sorridente que nada era tão urgente que não exigisse pensar antes de agir. Que não era uma pequena coisa aquilo que obrigara Sune a abandonar o seu posto em Näs, isso ele entendia bem, visto que Sune decidiu ficar na sua missão perigosa mesmo depois de ter salvo Erik, o conde, e os seus irmãos.
Mesmo assim, Sune tomou um banho rápido no balneário e já estava a caminho da casa de Arn e Cecília, ainda acabando de vestir a roupa folkeana, não se esquecendo de murmurar uma prece para abençoá-la. Lá dentro, esperavam-no o pão sarraceno ainda fresco e uma forte sopa de carneiro, o próprio senhor Arn e a senhora Cecília, a qual o abraçou, com lágrimas nos olhos, e lhe deu as boas-vindas.
Enquanto comiam, Sune contou curto e rápido tudo o que era mais importante. O rei Sverker, finalmente, acabara de saber que Erik, o conde, e seus irmãos estavam escondidos em Algaräs e mandara cem homens armados para assassiná-los. Se era verdade que os irmãos eri-kianos estavam, de fato, em Àlgaräs, já não havia muito tempo para interferir.
Arn acenou que sim, lamentando. Era verdade. A conselho de Bengt Elinsson, Erik, o conde, e os seus irmãos mudaram-se para Algaräs, primeiro porque não havia sverkerianos pelas redondezas e, segundo, porque o rei, certamente, iria mandar procurá-los mais em Eriksberg, no sul, do que em alguma aldeia folkeana no norte. Erik, o conde, também foi suficientemente inteligente para, a portas fechadas, contar para Arn como Sune o avisara. Acrescentou que não tinha dito nem uma palavra para ninguém a respeito do assunto. E, em contrapartida, Arn confirmou que Sune sempre esteve a serviço de Forsvik, embora usasse em Näs o manto vermelho dos sverkerianos. Além disso, ainda contou um pouco sobre a maneira estranha como Sune se esforçava para não aparecer, mas sobre isso era melhor falar mais tarde. Na verdade, o tempo urgia.
Três esquadrões armados, dois de cavalaria ligeira e um de cavalaria pesada, bem defendida, saíram de Forsvik naquela manhã. Durante a inspeção da tropa e antes de partir, Arn chamou a atenção de todos para o fato de não se tratar mais de exercício. O que agora ia acontecer era o que tinha sido exaustivamente treinado. Por isso, as espadas de treino tinham sido substituídas por espadas de verdade. E as pontas das flechas e das lanças também estavam bem afiadas.
Talvez tivesse sido melhor sair de Forsvik apenas com cavalaria ligeira e não com um esquadrão de cavalaria pesada que retardava a marcha dos outros. Só depois se chegou a essa conclusão, mas depois até os idiotas conseguem acertar.
Pelo que Sune contou a respeito dos cavalos e das armas dos escudeiros dinamarqueses, Arn ficou convencido de que era melhor levar pelo menos um esquadrão de cavalaria pesada, já que iriam enfrentar uma força com o dobro dos homens.
Àlgaräs estava em chamas quando eles chegaram, as labaredas e a fumaça podiam ser vistas a longa distância. Arn teve de empregar palavras duras para manter os seus cavaleiros num trote tranqüilo, isso para não chegarem cansados ao encontro com dinamarqueses e sver-kerianos.
Depois desse insuportável e angustiante trote, e tendo chegado à distância de ataque, Arn e seus comandados verificaram que os homens de mantos vermelhos estavam entrando no burgo através de uma brecha aberta na paliçada de madeira. Não havia tempo a perder. Arn mandou atacar com a cavalaria pesada na frente para um embate frontal com velocidade e força. Mandou ainda que Bengt Elinsson ficasse do lado de fora dos muros com um dos esquadrões ligeiros e limpasse a área de todos os mantos vermelhos.
Os homens do rei Sverker estavam tão excitados que só tarde demais descobriram o barulho produzido pelos cavaleiros de mantos azuis, chegando todos unidos, joelho colado em joelho, com as lanças em riste. Os folkeanos arrasavam com tudo na sua frente, no caminho para Àlgaräs.
A um canto da praça do burgo, havia um grupo lutando, formado por gente da casa com Erik, o conde, na frente. Os cavaleiros pesados com as suas malhas de aço desviaram-se para o lado e, então, surgiu o esquadrão comandado por Sigfrid Erlingsson. A maioria dos sverkerianos e dinamarqueses fugitivos acabou sendo apanhada fora dos muros pelo esquadrão ligeiro de Bengt Elinsson. Não foram feitos prisioneiros. Poucos foram os inimigos que sobreviveram, entre eles Ebbe Sunesson.
Erik, o conde, foi o único sobrevivente entre os seus irmãos e ferido em vários lugares. Por toda a praça, jaziam mortos muitos folkeanos, jovens e velhos. Até mesmo escravos e cabeças de gado tinham sido abatidos.
Erik, o conde, foi grande no momento de tristeza. Embora andasse desequilibrado pelo cansaço e sangrando no rosto, nas mãos e numa coxa, ele manteve uma curta conversa com Arn, ainda ofegante. Aí limpou a sua espada do sangue e convocou os três comandantes, Sune, Sigfrid e Bengt, e os seus homens logo abaixo, Sigurd que antes se chamava Sigge, e Oddvar, que antes se chamava Orm, além de Emund Jonsson, filho de Ulvhilde. Ordenou que se ajoelhassem e, como novo rei dos sveas e dos gotas, os armou cavaleiros.
Foram os primeiros a serem armados cavaleiros fidalgos do novo reino que estava por vir.
Demorou uma semana inteira, antes de os cavaleiros que saíram de Forsvik voltarem. Muita coisa precisava ser limpa depois da luta em Algaräs, onde mais de noventa dinamarqueses e sverkerianos foram jogados numa cova coletiva, enquanto que os moradores assassinados foram levados para a igreja para um funeral cristão.
Dois dos forsvikianos morreram na luta e quatro ficaram muito feridos, sendo que dois estavam tão mal que Arn nem quis se responsabilizar por levá-los para Forsvik para sarar suas feridas. Ibrahim e Yussuf não estavam mais no país, agora que a sua ajuda seria mais preciosa. Com uma oração ardente e o seu nome como templário, Arn escreveu uma carta curta no único pedaço de pergaminho que encontrou em Àlgaräs, mandando-a para os irmãos hospitalários em Eskilstuna. Os dois feridos seguiram de carroça para õrebro e, depois, numa viagem mais tranqüila para Hjálmaren, para o hospital dos irmãos hospitalários.
Os dois forsvikianos mortos foram envolvidos em mantos azuis e mandados para os seus parentes.
Como muitos forsvikianos seguiram, feridos ou mortos, para os parentes e amigos, parecia que a sua força estava reduzida pela metade ao voltar. E pelos rostos de Erik, o conde, e de Arn, nada de bom era de esperar. Eles entraram no burgo na frente da tropa que, a distância, provocou o toque do alarme em Forsvik logo que avistada. Para a rainha viúva, Cecília Blanka, que foi a primeira entre os que, inquietos, foram receber os que regressavam, estava reservada a pior notícia. Coube a Erik e Arn informarem a ela sobre a morte de três dos seus filhos, todos assassinados no mesmo dia. Estavam envoltos em mantos azuis numa carroça, atrás, no fim da coluna de cavaleiros.
Cecília Blanka teve uma vertigem, caiu no chão e ficou rolando em silêncio para a frente e para trás, se agarrando e arranhando o chão até as suas unhas quebrarem e o sangue escorrer. Finalmente, soltou um grito lamentoso que dilacerou o coração de todos. Erik, o conde, levou-a então para a igreja e ficou por ládurante muito tempo com ela.
Arn ordenou que se cuidasse dos cavalos e das armas e que se levassem os três corpos dos erikianos para a casa refrigerada onde se guardavam as carnes. Não era um lugar muito honroso para os filhos do rei, mas seus corpos já tinham começado a cheirar mal e logo teriam que ser sepultados.
A sua Cecília, ele levou consigo para a sua câmara, fechou a porta e contou em poucas palavras e, na opinião de Cecília, com muita frieza, o que acontecera. Os três filhos do falecido rei Knut tinham sido assassinados por gente de Sverker. Os forsvikianos tinham dado conta de quase todos os cem homens mandados pelo rei Sverker, e apenas uma pequena quantidade sobreviveu. Dessa maneira, a guerra havia chegado às províncias de Götaland, embora ainda fosse demorar um longo tempo, antes de as batalhas propriamente ditas começarem. Agora, a primeira coisa a fazer era sepultar os irmãos de Erik. Arn sugeria que isso fosse feito na igreja de Riseberga, visto que era o mosteiro mais próximo e uma viagem para Varnhem agora seria perigosa e longa demais, além de quente demais para quem falecera há uma semana.
Cecília tinha dificuldade em responder de pronto à pergunta de Arn sobre Riseberga, visto que estava muito confusa por não reconhecer o marido na sua frente. Os olhos dele tinham ficado menores e frios e ele falava de maneira espasmódica e dura. Momentos mais tarde, concluiu que aquele era um outro Arn para ela desconhecido. Não mais aquele Arn gentil e amado ou o pai de Alde. Era o guerreiro da Terra Santa.
Erik, o conde, pareceu para ela do mesmo jeito, quando chegou abraçado à sua mãe, encolhida e tremendo e a deixou com Cecília como se fosse uma criança. Erik logo chamou Arn ao lado para saber em poucas palavras Quando poderiam viajar para Riseberga.
Ainda nesse dia o funeral partiu de Forsvik. A maioria dos jovens senhores que combateram em Algaräs ficou em Forsvik. As conversas de quem acabara de chegar da sua primeira luta com armas de verdade e vencera mal condiziam, na opinião de Arn, com a atmosfera de um cortejo fúnebre. Em vez deles, armaram-se três esquadrões com armas afiadas e os homens que tinham permanecido antes em Forsvik. Mas os seis que tinham sido nomeados cavaleiros por Erik, o conde, esses iriam junto como mandava a honra recebida.
Em Riseberga, ficaram sepultados os três filhos do rei e, pelas orações encomendadas, Erik deixou uma boa soma que Arn e Cecília lhe emprestaram. A mãe, Cecília Blanka, ficou no convento, enquanto o cortejo fúnebre voltou para Forsvik. Por quanto tempo ela ficaria em Riseberga, se para sempre ou por um curto período, nem ela sabia, nem ninguém.
Naquele outono e começo de inverno, os cavaleiros folkeanos e eri-kianos viajaram para todos os lados. Erik, o conde, foi para a Noruega, tentar a ajuda de quem quisesse lutar e entrar na guerra. Eskil e o seu filho, Torgils, assim como Arn e Magnus Mâneskõld, fizeram uma longa viagem pela Svealand onde a notícia do ignominioso assassinato dos três filhos erikianos provocara furiosas reações. Os sveas pareciam considerar, de alguma maneira, o clã erikiano como a sua família real. As relíquias de Santo Erik, o avô de Erik, o conde, passavam em procissão pelos prados de Uppland para augurar boas colheitas. Na assembléia da justiça nas chamadas pedras de Mora, perto de Aros Oriental, os sveas presentes responderam a uma voz, que queriam pegar em armas de imediato. Isso os folkeanos do sul conseguiram conter, visto que um exército de sveas precisaria de terreno mais firme por baixo dos pés do que a lama do outono para fazer jus à sua coragem, tal como Arn pôs, cautelosamente, a questão. Pelo que viu dos guerreiros da Svealand presentes na assembléia, Arn achou que não seria muito aquilo que eles poderiam realizar contra os cavaleiros dinamarqueses. Depois de muitos discursos em alto e bom som, todos concordaram em que os sveas deviam comparecer com toda a sua força na Götaland Oriental, concentrando-se em Bjälbo, na primavera.
Na volta para casa, os folkeanos pararam em Eskilstuna, onde Arn envergou o uniforme de templário e visitou o hospital dos irmãos hospitalários. Caso tivesse esperanças em encontrar alguns cavaleiros da Ordem, em Eskilstuna, elas caíram logo por terra. Os irmãos dedicavam-se quase que unicamente ao tratamento de doentes e Arn teve de desistir de obter reforços com os melhores guerreiros do mundo, equiparados aos templários. Mas ele foi muito bem recebido e com todo o respeito pelos irmãos que, além disso, fizeram um bom trabalho, quase como se fossem sarracenos, nos dois jovens senhores feridos em Algaräs. Estariam prontos para montar de novo na primavera.
Depois do ano-novo, foi convocada uma reunião da família folkeana em Arnäs, onde estaria presente, também, Erik, o conde, de volta da sua viagem à Noruega. Esta tinha se transformado numa grande decepção. Os noruegueses, mais uma vez, andavam às turras uns com os outros, estando todos ocupados com a sua própria guerra. Erik trazia, no entanto, saudações de Harald Dysteinsson que tinha se transformado em conde entre os birkebeinianos em Nidaros, recebendo grandes burgos como feudos. Harald prometeu que assim que vencesse viria ajudar os folkeanos e erikianos. Era uma promessa de muito pouco valor.
Antes da reunião dos folkeanos, Erik, o conde, que há muitos anos não visitava Arnäs, deu uma volta pelos novos muros do castelo, junto com Arn. Ele não se cansou de elogiar a tremenda força de resistência que viu na fortaleza, mas, segundo ele, essa força também o fazia hesitar um pouco. Quando Arn lhe perguntou, francamente, no que ele estava pensando, Erik disse que seus olhos não podiam deixar de notar como Arnäs tinha crescido. O que ali se via era uma força folkeana muito maior do que qualquer outra. Os cavaleiros que Arn educava em Forsvik, os mesmos que facilmente tinham vencido mais do que o dobro de adversários em Algaräs, fortaleciam ainda mais o poder folkeano. Portanto, quem seria ele, Erik, o conde, senão alguém que estava à frente dos erikianos, muito mais fracos e, com isso, ainda pretender colocar na cabeça a coroa do reino?
Arn não levou muito a sério essas considerações preocupadas de Erik e disse que se ele considerasse, antes, arranjar um bom marechal, certamente, não ficaria tão preocupado. Erik, o conde, não entendeu direito a brincadeira, antes respondeu quase raivoso achar que Arn era o seu marechal.
— Isso mesmo, assim serei — respondeu Arn, rindo e colocando a mão sobre os ombros fortes do conde. — Você não deve esquecer aquilo que juramos no leito de morte do seu pai. Eu sou o seu marechal. E, para mim, você já é o meu rei. Foi isso que jurei fazer, perante seu pai.
— E por que razão vocês, os folkeanos, não assumem o poder, agora que está ao seu alcance? — perguntou Erik, ainda não totalmente tranqüilo.
— Por duas razões — disse Arn. — Primeiro, porque todos nós juramos nos debater pela sua coroa e os folkeanos nunca falham com os seus juramentos. E, segundo, você tem, e não nós, todos os sveas ao seu lado. Os machados e os poucos cavaleiros que os sveas têm talvez não metam medo a muitos dinamarqueses, mas da sua coragem eu não duvido. E, ainda por cima, são muitos.
— Portanto, se eu não tivesse os sveas ao meu lado... — soltou Erik, lentamente, ao mesmo tempo que juntava as mãos.
— Ainda assim, continuaríamos respeitando o nosso juramento feito e você seria o rei, mas quem virá depois de você, não sei, talvez Birger Magnusson.
— O jovem Birger, que é filho do seu filho, Magnus Mâneskõld?
— Esse mesmo que é o mais esperto entre os irmãos em Ulväsa e tem uma boa cabeça. Mas por que dedicar os nossos pensamentos a um tempo que virá muito depois de nós? O futuro está nas mãos de Deus e, neste momento, o que temos pela frente é uma guerra para ganhar. É isso que vem em primeiro lugar.
— E essa guerra nós vamos ganhar mesmo?
— Sim, certamente. Com a ajuda de Deus. A questão é saber o que virá depois. Sverker não possui nenhum exército no qual se amparar. Ele a gente derrota na primavera. Até mesmo os sveas bastariam para derrotá-lo. Se morrer na guerra, ele acaba aí. Se conseguir fugir para a Dinamarca, então, teremos Valdemar, o Vitorioso, em cima de nós. E aí vai demorar um pouco mais.
— De preferência, devemos matar Sverker na primavera, certo?
— Sim, é essa a minha intenção. É a única maneira certa de evitar que ele vá buscar os dinamarqueses.
Na primeira guerra contra o rei Sverker, nada aconteceu de importante. Na primavera de 1206, veio uma grande horda de sveas para a Götaland Oriental, ameaçando saquear Linkõping caso o rei Sverker não se dignasse enfrentá-los em campo aberto. Enquanto esperavam pela resposta, beberam toda a cerveja da cidade, mas pouparam todo o resto.
O rei Sverker, os seus homens mais próximos e o seu esquadrão de escudeiros fugiram de Näs e se dirigiram pelo caminho mais direto para o sul, para a Dinamarca. E os sveas tiveram de voltar para casa, sem dar um único golpe. Sua filha Helena, o rei deixou-a no convento de Vreta, onde ela ficou presa entre as familiares.
Erik, o conde, mudou-se então, com a sua mãe e seus parentes e amigos para o burgo da sua infância, Näs, e passou a usar a partir daí o título de rei Erik, visto que tanto os folkeanos como os sveas o reconheciam como tal. Arn achava que o rei devia procurar se defender de preferência em Arnäs, mas mandou três esquadrões de jovens folkeanos para compor o grupo de escudeiros do rei em Näs.
Porque agora não era mais questão de saber se o exército dinamarquês viria, mas quando. Até ver, o reino frágil do rei Erik estava seguro. Valdemar, o Vitorioso, nesse ano, estava ocupado com uma nova cruzada. Estava saqueando as ilhas Dagö e ösel, de Livland, assassinando muitos pagãos ou cristãos inadequados, e levando muita prata para a Dinamarca.
Nas ferrarias de Forsvik, trabalhava-se agora dia e noite, e as forjas só se apagavam no dia de descanso semanal, dedicado a Deus. O jovem
Birger Magnusson começou o ano integrado no maior grupo de jovens folkeanos que entrou para Forsvik em todos os tempos. Foram construídas, também, novas casas, entre elas, uma só para os cavaleiros nomeados pelo rei Erik depois da vitória em Algaräs. E como presente pessoal, ainda que tardio, do rei, todos receberam esporas de ouro. Na sua sala, eles penduraram escudos de sverkerianos e dinamarqueses que conquistaram na sua primeira vitória.
Só em fins do outono de 1207, depois da primeira neve, chegou a notícia de que um grande exército inimigo estava a caminho, vindo da Escânia. O rei Vàldemar, o Vitorioso, não o liderava, talvez por não querer ofender o seu controlado rei Sverker, mas mandou todos os seus melhores comandantes, entre eles, Ebbe Sunesson e seus irmãos Lars, Jakob e Peder. E com eles, doze mil homens, o maior e mais poderoso exército jamais visto em toda a Escandinávia.
Arn mandou mensagem de convocação de fogo para folkeanos e erikianos, marcando reunião em dois fortes, o de Arnäs e o de Bjälbo, que era mais um burgo algo fortalecido do que uma verdadeira fortaleza. Depois, aprontou quatro esquadrões ligeiros de Forsvik para irem ao encontro do inimigo.
Cecília sentia medo e admiração, em partes iguais, diante do fervor demonstrado por Arn. Ela não podia entender a razão da alegria de cavalgar ao encontro de um inimigo infinitamente superior com apenas sessenta e quatro homens, todos ainda jovens. Arn tentou arranjar tempo para falar com ela e Alde na última noite, antes de partir. Não era sua intenção entrar em guerra do jeito normal, assegurou ele, diante das duas. Mas por uma razão um pouco inexplicável, os dinamarqueses resolveram vir no inverno e isso fez com que os seus cavalos pesados ficassem ainda mais lentos. Os cavaleiros dinamarqueses jamais poderiam alcançar quaisquer forsvikianos. Ao contrário, é só passar por eles à distância certa, voando como uma mosca. Mas há que obter conhecimento sobre as suas intenções, as suas armas e o seu número.
Aquilo que ele disse para Cecília e Alde, sem dúvida, era verdade, mas estava longe de ser toda a verdade.
Ao sul de Skara, pela primeira vez, a força de cavalaria de Arn avistou o inimigo. Aconteceu algumas semanas antes do Natal, com todo o terreno coberto de neve, mas ainda não realmente frio. Os forsvikianos ainda não tinham precisado envergar aquelas roupas muito grossas para usar no inverno, um tipo de cobertor que tampava todo o aço e o ferro. Eles passaram irritantemente próximos do exército dinamarquês, avançando em sentido contrário, em parte para contar o inimigo e em parte para saber onde era melhor começar a feri-lo. De vez em quando, os dinamarqueses mandavam um grupo de cavalaria pesada com lanças contra Arn e sua tropa, mas estes fugiam com a maior facilidade. Eles viram que o rei Sverker e o arcebispo Valerius encontravam-se mais ou menos a meio da coluna do exército, cercados por um forte grupo de cavaleiros, com muitas bandeirolas. Arn considerou que um ataque contra o rei não valeria a pena. As perdas próprias seriam grandes demais e não se poderia ter a certeza de conseguir matar o soberano. Além disso, a grande maioria dos jovens comandados por Arn nunca tinha lutado antes e devia ganhar primeiro, várias vezes, em ataques mais fáceis, antes de fazer um ataque difícil como aquele e pôr em jogo as suas vidas.
Mais uma hora de caminho ao longo da coluna dinamarquesa e eles encontraram alvos mais fáceis. Era onde as carroças de bois com mantimentos e até forragem para os cavalos se arrastavam pela lama muito mole produzida por toda a cavalaria na frente. Não seria difícil cavalgar contra os animais de arrasto e matar muitos deles e, além disso, pôr fogo na forragem para reduzir consideravelmente o poder do exército inimigo.
Entretanto, não havia pressa em realizar esse ataque. E, ainda por cima, havia a possibilidade agora de ensinar os jovens senhores um pouco mais sobre a guerra de uma maneira geral, já que no detalhe e para defender a sua vida e sair inteiro, ele confiava na capacidade dos forsvikianos. Sem ter atirado uma única flecha ou realizar o mínimo ataque apenas para meter medo, Arn mandou bater em retirada os seus cavaleiros para passar a noite em uma aldeia suficientemente longe do exército dinamarquês. Eles trataram bem o povo da aldeia e apenas tomaram o que era preciso para a ceia. E não bateram, nem feriram ninguém, nem aqueles que reclamaram.
À noite, até altas horas, Arn descreveu como iriam acabar com os suprimentos dos dinamarqueses, embora no momento não fosse uma boa idéia, visto que o inimigo estava quase chegando na cidade de Skara. E se chegassem lá cheios de fome, sem forragem para os seus cavalos e furiosos, isso não seria bom, também, para os moradores da cidade. Além disso, não se sabia ao certo o que Sverker e seus dinamarqueses pensavam fazer depois de Skara. Arn tinha a impressão de que a razão de eles terem vindo no inverno, era para chegar ao lago Vättern quando o gelo se formava e ficava transitável. A idéia seria a de reconquistar a fortaleza de Näs para a devolver a Sverker. Com isso, não iriam conseguir muita coisa, mas com os reis acontecia muitas vezes eles pensarem como crianças. Se voltasse para Näs, Sverker se sentiria rei de novo. Mas como é que ele iria sustentar um exército dinamarquês tão grande quanto esse, na ilha chamada Visingsö? E se não conseguisse dar sustento a esse exército, o que poderia fazer?
Arn soltou uma gargalhada. Estava de bom humor. E não era apenas para incutir coragem nos seus jovens e inexperientes guerreiros. Ele entendia muito bem o que era sentir-se num grupo de sessenta e quatro homens e passar por um exército trezentas vezes maior. Mas, no dia seguinte, iriam sentir mais autoconfiança.
Depois de uma longa e boa noite de sono, já que os dias eram curtos nessa época do ano em toda a Escandinávia, Arn contou que estava na hora de fazer a primeira investida, não contra os bois e os suprimentos, mas, sim, contra os melhores dos cavaleiros dinamarqueses, certamente, aqueles que estavam à frente do comboio. A razão era simples. Serviria para ensinar aos dinamarqueses que aquele que seguisse um inimigo mais rápido jamais voltaria vivo.
Da primeira vez que executaram esse plano, ocorreu tudo como estava previsto.
Arn avançou com apenas um esquadrão contra os cabeças do exército inimigo onde havia muitas bandeirolas e onde havia bastante cavalaria pesada. Os dinamarqueses tiveram dificuldade em acreditar no que viam. Eram apenas dezesseis cavaleiros cavalgando contra a frente do comboio e chegando cada vez mais perto. Por fim, tão perto que os cavaleiros começaram atirando palavrões uns contra os outros. Então, Arn retirou o seu arco das costas, esticou-o lentamente, puxou para a frente a bolsa de flechas que colocou no colo como se pensasse em ficar parado ali por bastante tempo, botou uma seta no arco e fez pontaria para o primeiro dos porta-estandartes que, imediatamente, levantou o seu escudo. Arn mudou, de repente, de direção e abateu um outro homem, mais atrás, que apenas estava de queixo caído, espantado, sem a menor intenção de se defender. Só nesse momento, os dinamarqueses levantaram os seus escudos e se ouviram furiosas ordens de comando, a partir do grupo da frente, enquanto outro grupo de cinqüenta homens se formava para atacar em linha.
Arn soltou uma gargalhada, bem sonora e irritante, dizendo para os seus dezesseis homens para colocarem uma seta no arco. Evidentemente que isso era demais para os dinamarqueses, que logo partiram para o ataque, com as lanças em riste e a neve saltando para todos os lados sob as patas dianteiras dos seus cavalos pesados. Quase indolentemente, os dezesseis folkeanos e Arn deram uma volta com os seus animais e partiram na direção do bosque mais próximo, com os perseguidores à distância de algumas lanças de comprimento, distância que faziam questão de manter.
Do exército dinamarquês ouviram-se gargalhadas de triunfo ao verem como o inimigo era caçado sem piedade na direção da floresta.
Mas de lá não voltou um único dos cavaleiros dinamarqueses. Isso porque na floresta estavam esperando por eles os três esquadrões de cavalaria ligeira que avançaram, bem junto, antes de dispararem as suas setas e depois abateram os últimos sobreviventes à espada.
Na segunda tentativa, o estratagema não funcionou, visto que os dinamarqueses acharam por bem não prosseguir com a caçada aos irritantes fugitivos. Mas o exército dinamarquês já começava a perder tempo com a perda desses seus cavaleiros que, na maior parte dos casos, eram de famílias bem conceituadas, sendo preciso tomar conta dos seus corpos, ao contrário do que acontecia quando se tratava de infantes. É claro que os dinamarqueses desejavam vingança, mas como avançavam com os cavaleiros na ponta por causa da neve bem alta, os arqueiros a pé não tinham como agir lá na frente. E a cavalo não tinham como chegar perto dos cavalos muito mais leves e muito mais rápidos dos forsvikianos.
No dia seguinte, Arn passou bem perto da frente do comboio dinamarquês, com todos os seus sessenta e quatro cavaleiros. Havia escolhido um lugar em que o campo era aberto entre dois morros bem altos e a vista ia longe para todos os lados, de modo que os dinamarqueses não tinham como recear uma emboscada.
Os forsvikianos avançaram de novo, lentamente, se aproximando até terem a certeza de acertar nos alvos com as suas setas. Só que desta vez os alvos não eram os cavaleiros vestidos com suas malhas de aço ou os seus escudos, mas os cavalos. Cada cavalo atingido era quase certo um cavalo morto e um cavaleiro a pé, em especial, se a seta acertasse na barriga do animal. O caminho pesado tinha feito os dinamarqueses desistirem de cavalgar com os mantos de aço sobre os cavalos.
De novo, o ataque dos forsvikianos provocou a fúria dos dinamarqueses que colocaram cem cavaleiros em linha para contra-atacar.
Os forsvikianos pareciam agora com medo e hesitantes, virando-se para fugir. Então, os cavaleiros dinamarqueses atacaram de imediato. E aí foram avançando na neve e ficando cada vez mais afastados do seu exército até que os perseguidores começaram a afrouxar a velocidade, tendo já esgotado a maior parte das suas e das forças dos cavalos. Então, Arn virou de repente toda a sua força fugitiva que se dividiu em dois grupos que cercaram os dinamarqueses e passaram para o ataque, desta vez com setas próprias para atravessar as malhas de aço dos cavaleiros. Tiveram tempo de acertar e matar a maior parte deles ou feri-los com as suas espadas, antes de fugir novamente do socorro vindo do exército. Mas dessa vez não deu para atrair os perseguidores para a destruição.
O tempo mais quente de degelo e a neve pelos joelhos se desfazendo vieram como uma bênção para os forsvikianos e uma maldição para os cavaleiros dinamarqueses.
Nos dias seguintes, o inimigo tornou-se cada vez mais cauteloso nas suas incursões contra a cavalaria forsvikiana. Nenhum dos lados pôde fazer muita coisa, o que, na opinião de Arn, também não era de esperar.
Os dinamarqueses ficaram por pouco tempo em Skara e não saquearam muito a cidade, antes de seguirem para sudeste. A fortaleza de Axevalla eles nem se incomodaram em cercar. Foi a informação definitiva. Realmente, iam em direção ao lago Vättern e a Näs. No caminho, iam passar pela fortaleza de Lena, que Birger Brosa, ainda que reclamando das despesas, mandara reconstruir a conselho de Arn. Os dinamarqueses teriam de tomar ou cercar essa fortaleza para assegurar caminho livre para Näs. Portanto, a verdadeira luta iria acontecer nas proximidades de Lena. Era lá que deviam reunir-se todos para ver se dava para armar uma grande emboscada para o exército dinamarquês. E assim Arn mandou partir quatro cavaleiros com mensagens para Arnäs e Bjälbo para que todos os sveas e todos os gotas ser reunissem em Lena.
Com isso, estava na hora de a cavalaria forsvikiana trabalhar a sério para retardar o exército dinamarquês, de modo que sveas e gotas tivessem tempo suficiente para se reunirem. E então já se estava a vários dias de viagem a cavalo, longe de Skara.
Da primeira vez que os forsvikianos passaram à nova fase dos ataques, mataram mais de cem bois e outros animais de carga, queimando a maior parte da forragem transportada lá no fim do comboio dinamarquês. Depois, cortaram a linha de retorno. Todos os que foram mandados a pé de volta para Skara, a fim de comprar novos animais, desapareceram e nunca mais foram vistos.
Quando a cavalaria pesada teve de ser mandada para trás para proteger os meios de transporte de carga que iriam receber novos suprimentos e novos animais, Arn passou novamente a atacar na frente com o seu grupo, recomeçando a atormentar os porta-estandartes, se aproximando e disparando as suas setas ora contra eles, ora contra os cavalos. E agora os dinamarqueses não mais se atreviam a perseguir os seus atacantes.
A cada terceiro dia, Arn mandava um esquadrão para casa, em Forsvik, para tratar suas pequenas feridas, consertar as selas, afiar as armas e descansar, enquanto outro esquadrão entrava de serviço. O mais importante que os forsvikianos conseguiram durante essas semanas, quando atormentavam os dinamarqueses com as suas alfinetadas, foi retardar a sua caminhada e enlouquecê-los de desejo de usar a sua grande força numa batalha decisiva. O frio agora era a cada dia mais intenso e isso devia tornar os dinamarqueses mais dispostos para entrar em luta com toda a sua força ou para atravessar o lago Vättern sobre o gelo e entrar em Näs.
Isto porque as noites começaram a ficar intoleráveis para eles e a neve fazia com que o inimigo avançasse em silêncio, mesmo quando a cavalo. Aquele que saía de noite da sua tenda e ficava junto do fogo recebia a bênção do calor, mas também ficava cego com a luz das labaredas e não podia ver de onde, de repente, vinham as setas. E todas as noites havia forsvikianos se aproximando em vestes brancas como a neve e a pouca distância, desferindo os seus arcos.
Quando os dinamarqueses chegaram a um dia de viagem da fortaleza de Lena, os adversários, de repente, desapareceram, mas as marcas na neve indicavam nitidamente o caminho para a fortaleza que o rei Sverker e seus homens conheciam muito bem. Parecia, portanto, que os sveas e os gotas, finalmente, estavam se preparando para combater honrosamente como homens.
Assim era, sem dúvida. Em Lena, estavam reunidos todo o exército dos sveas, composto de três mil infantes, e todos os cavaleiros folkeanos.
Mas muito significativo, sem dúvida, era saber que de cada burgo folkeano tinham vindo escravos da terra e cocheiros, camponeses, libertados e ferreiros e até escravos de casa, em grandes quantidades. A maioria tinha trazido os seus próprios arcos longos e cinco flechas. Mas todos que precisassem trocar uma corda ou ter um arco novo ou novas flechas seriam logo atendidos. Mais de três mil desses arqueiros meio familiares tinham se reunido em Lena.
A cavalaria forsvikiana era composta de uns cento e cinqüenta homens, um terço de cavalaria pesada e o resto, ligeira. Duzentos besteiros de Arnäs e Bjälbo e de outros burgos folkeanos também estavam presentes, assim como cem homens com lanças longas de cavalo e grandes escudos revestidos de aço.
Quando o exército dinamarquês se aproximou de Lena, os folkeanos e sveas e os poucos erikianos que conseguiram passar pelos dinamarqueses colocaram-se em posição no vale, no sopé da montanha, Högstenaberget. À frente, ficaram os cavaleiros pesados, mais para atrair os dinamarqueses para um ataque que parecia fácil. Na linha seguinte, ficou a cavalaria ligeira e atrás deles um muro de defesa de escudos e lanças. Apenas alguns passos atrás da linha de escudos, ficaram os duzentos besteiros e atrás deles todo o estridente e aguerrido exército de homens de Uppland e de selvagens sveas para lutar a pé. No fundo, bem atrás, estavam os três mil arqueiros de longa distância. Eles eram a chave para a vitória ou para a derrota.
Arn trouxe consigo o rei Erik e dois esquadrões de cavaleiros para cavalgarem ao encontro dos dinamarqueses e conseguir que eles se virassem para a direção certa. Com o rei Erik cavalgava o seu porta-bandeira, vendo-se a distância, num dia claro e frio de inverno, as três coroas douradas contra o fundo azul. Os dinamarqueses estavam convidados a entender, enfim, que agora iam enfrentar o inimigo numa grande decisão final.
Não precisaram se mostrar por muito tempo perante o exército dinamarquês para conseguirem fazer com que este reagisse e fizesse o que eles queriam. E os dinamarqueses começaram a colocar-se bem mais em cima no vale para realizar o seu primeiro ataque demolidor de cima para baixo, pela encosta, com a cavalaria pesada. Eles deviam ter ficado muito contentes ao ver que o inimigo não entendera qual a vantagem em atacar de cima para baixo, pela encosta.
Agora estava decidido que a batalha ia ter lugar, mas ainda demoraria mais algumas horas até que os dinamarqueses botassem em ordem as suas forças.
Arn e o rei Erik voltaram para trás, para rever a posição do seu exército e para incentivar a coragem dos seus homens, já que todos podiam ver o extraordinário poder superior que se acumulava lá em cima. Repetidamente, tentavam imprimir em todas as mentes que se todos fizessem como lhes fora dito poderiam sair vencedores em menos tempo do que se imaginava. Mas ninguém devia hesitar ou perder a coragem, não apenas porque seria um grande pecado como também meia derrota.
Para a linha dos grandes escudos quadrangulares e lanças para cavalos, disseram onde eles deviam ficar e esperar. Se um único homem começasse a correr diante do estremecimento da terra por efeito da cavalgada do inimigo, isso abriria um buraco que seria visto a distância pelos cavaleiros atacantes e era isso, justamente, que eles estavam esperando para se infiltrarem. Era muito simples.
Para os besteiros, disseram ainda, repetidamente, que deviam entrar em ação só quando o inimigo estivesse tão perto que conseguissem ver o branco dos olhos deles. Só então e nunca antes deviam fazer pontaria e disparar as suas bestas. Aquele que disparasse sem fazer pontaria apenas perdia uma seta, mas, se todos fizessem o que deviam, iriam abater mais de cem cavaleiros inimigos diante dos lanceiros e ainda impediriam o avanço dos que vinham atrás, se é que viriam alguns atrás.
Para o exército dos sveas era mais difícil, no entanto, falar com discernimento. Esses selvagens pareciam mais um terremoto de impaciência, prontos para disparar e correr o mais rápido possível para o campo de batalha e serem mortos.
Em compensação, havia palavras importantes a dizer para os arqueiros de longa distância, que estavam atrás de todos e constituíam a maior parte do exército. Arn explicou serem eles os que iam assegurar a vitória, eles e mais ninguém. Se cada um fizesse o que havia feito nos treinos, a vitória estaria certa. Caso contrário, todos iriam morrer em Lena.
Quando o rei Erik e Arn já haviam falado com tantos arqueiros que suas bocas começavam a secar, surgiu um movimento de inquietação nas hostes dinamarquesas como se eles estivessem prontos para atacar. O silêncio caiu sobre todo o campo de batalha e todos fizeram a sua oração para Deus e todos os santos, pedindo por uma vitória e a sobrevivência.
Os dinamarqueses já sentiam a vitória ao seu alcance, já que do seu alto posto de observação podiam ver que o inimigo a enfrentar tinha apenas um terço do seu tamanho e ainda menos de um terço dos seus cavaleiros.
Entre os gotas, os erikianos e os folkeanos, os rostos empalideceram, perderam a cor, enquanto que os sveas apenas pareciam cada vez mais impacientes para entrar em ação.
Arn voltou aos arqueiros de longa distância e pediu a um dos mais competentes atiradores que ele conhecia da aldeia perto de Arnäs, para disparar uma flecha com penas de direção, vermelhas, na altura e com a direção em que todos receberam ordens para atirar.
Uma flecha apenas saiu pelos ares, longe e alta, sobre o campo de batalha, caindo mais ou menos no meio, entre os dois exércitos. Ouviram-se grandes gargalhadas lá de cima, dos dinamarqueses que pareciam acreditar que algum arqueiro com medo havia ficado louco. Quer dizer, eles nunca tinham enfrentado arqueiros de longa distância. Arn respirou fundo, com um suspiro de alívio. E fez as suas preces finais.
Quando os cavaleiros pesados dinamarqueses entraram em movimento, ouviu-se o som imponente de milhares e milhares de cascos de cavalos batendo na neve. Arn pensou que podia ter sido pior e mais amedrontador se o chão estivesse duro e sem neve. O barulho teria sido ensurdecedor. Mas mesmo sem esse barulho de cavalaria pesada ao ataque, esse muro de cavalos e homens descendo a encosta parecia representar a queda de uma barreira de aço e morte sobre o inimigo.
Arn, que estava em cima de um pequeno morro, acima dos arqueiros de longa distância, ordenou que todos colocassem a primeira flecha, puxassem o arco e fizessem pontaria, tal como tinham aprendido, ou seja, a meio caminho entre o céu e a terra. Um ruído forte como se fosse um sussurro gigantesco se ouviu quando os três mil arqueiros suspenderam os seus arcos.
O barulho das armas batendo umas nas outras e o som surdo dos cascos dos cavalos na neve se ouviam cada vez mais perto, mas a neve constituía agora uma espécie de nuvem branca, uma vantagem com que Arn não havia contado. Ele continuou olhando num momento para as flechas de penas vermelhas, no outro momento para o muro de cavaleiros na nuvem de neve que se aproximava cada vez mais. Então, levantou o braço e gritou bem alto para que todos esperassem... esperassem... esperassem um pouco mais!
— Agoooooraaaa! — rugiu ele, o mais que podia, abaixando o braço ao mesmo tempo.
E, então, o céu escureceu sobre o campo de batalha, em conseqüência de uma nuvem que primeiro se alçou no ar e depois caiu contra os atacantes que, atingidos, rodaram na neve e produziram um alvoroço como se fossem mil garças levantando vôo ao mesmo tempo.
Quando a primeira salva de flechas caiu em cima da tropa de choque dos dinamarqueses, foi como se Deus tivesse disparado de cima um murro de ferro e os derrubado. Centenas de cavalos caíram relinchando e escoiceando numa grande nuvem de neve que cegava quem vinha logo atrás, de modo que até quem não tinha sido atingido caía. E, então, já vinha a caminho a próxima nuvem de flechas.
Uma linha estreita dos cavaleiros dinamarqueses mais adiantados conseguiu passar da mortal salva de flechas e continuou seu caminho em frente a toda a velocidade. Só que agora constituíam uma pequena parte da sua força de cavalaria.
Arn mandou disparar a terceira e última salva de flechas de longa distância contra os soldados a pé que vinham correndo atrás dos seus cavaleiros e depois correu para a frente dos arqueiros, dando ordem para que todos os cavaleiros pesados e ligeiros na sua frente se afastassem para os lados a fim de não impedirem o caminho.
Ele colocou o seu cavalo no meio dos arqueiros de longa distância e gritou para eles e para os lanceiros que agora a vitória estava muito perto de ser alcançada, era só esperar o momento certo. E, então, deu ordem aos atiradores para fazerem pontaria. E levantou a mão.
A vinte passos de distância caíram ao chão quase todos entre a última centena de cavaleiros dinamarqueses. Alguns ainda vieram, cambaleantes, pela neve até aos lanceiros que logo os abateram com suas lanças.
Agora, a cavalaria folkeana ainda intocada passou ao ataque e foi como se uma charrua arrasasse o já desbaratado exército dinamarquês, chegando logo aos soldados a pé que se viraram e fugiram.
Para os sveas, Arn nem precisou dar ordem nenhuma, pois eles já estavam avançando e soltando gritos de guerra e fazendo girar os seus machados por cima da cabeça. Arn precisou pular para a frente e, depois, para o lado, a fim de evitar ser derrubado pelos sveas. Em seguida, foi até junto do rei Erik que colocou com um esquadrão de cavalaria ligeira de forsvikianos no cimo de um morro com visão sobre o campo de batalha.
— Será que Deus nos vai dar a vitória neste dia? — perguntou, arfando, o rei Erik, assim que Arn chegou junto dele.
— Isso Ele já fez! — respondeu Arn. — Mas disso não sabem ainda Sverker e os seus dinamarqueses lá em cima, porque nada podem ver através da nuvem de neve.
Arn mandou chamar a sua cavalaria ligeira do campo de batalha onde não era mais necessária por todos os operosos sveas estarem já distribuindo seus golpes. Ele colocou, então, os seus cavaleiros, perto do lugar onde ele e o rei Erik estavam observando a batalha que agora era mais uma matança do que uma guerra. Os guerreiros da Svealand estavam brigando numa guerra que, de forma inesperada, se encaixava plenamente no seu estilo com os inimigos restantes a pé, muitos já mortos ou feridos, jazendo na neve suja e meio derretida.
Estava na hora de assumir a vitória. Arn levou consigo o rei Erik e seu porta-bandeira e todos os seus cavaleiros ligeiros, passando pelo morro onde os dinamarqueses tinham estado ao iniciar o seu ataque. Aí, ele dividiu a força em dois grupos e ordenou ao cavaleiro Oddvar e ao cavaleiro Emund Jonsson que, com os seus homens, dessem uma volta por trás do comando real dinamarquês que aparecia um pouco mais além e bloqueassem o seu caminho de recuo.
Entre o rei Sverker e seus homens parecia que ainda ninguém tinha percebido o que acontecera. Isto porque quando Arn e o rei Erik e seus porta-estandartes, com o símbolo das três coroas e o símbolo do leão folkeano, marchavam a trote e se aproximavam, parecia que os dinamarqueses não acreditavam no que viam. E quando começaram a ficar preocupados e olharam para trás, viram que estavam cercados.
Os vencedores tomaram todo o seu tempo para avançar lentamente na direção do rei Sverker e seus homens, entre os quais estava também o arcebispo Valerius e o marechal Ebbe Sunesson e ainda mais alguns que tinham estado antes em Näs.
Quando o círculo folkeano se fechou em volta de Sverker e seus homens, os dinamarqueses continuavam procurando no campo de batalha por alguém que viesse em seu socorro. Lá embaixo, ouviam-se ainda os gritos de homens morrendo e cavalos relinchando. O rei Erik e Arn continuaram o caminho até ficarem a dois comprimentos de lança de distância. E só então falaram. O rei Erik foi o primeiro, numa voz tranqüila e com grande dignidade.
— Esta guerra terminou, Sverker — começou ele. — Você é meu, por graça e desgraça, e sua vida está como um passarinho na minha mão. Assim acontece também com todos os seus homens aqui à sua volta. Todos os outros estão mortos ou vão morrer em breve. São eles que você ouve lá embaixo. Agora me diga o que você faria se eu estivesse no seu lugar?
— Aquele que mata um rei será excomungado — respondeu Sverker, com a boca seca. —
— Você acha ter Deus do seu lado? — inquiriu o rei Erik, com um estranho sorriso. — Por isso, Ele se mostrou muito generoso a seu respeito neste dia. Covardemente, você veio até nós com um exército estrangeiro e Deus lhe pagou conforme o merecido. Mas agora vou dizer a você o que pretendo fazer. E Deus sabe o quanto pensei e repensei no que devia fazer quando este momento chegasse. O seu pai matou o meu avô. O meu pai matou, depois, o seu pai. Vamos terminar com isso. Voluntariamente, me dê a coroa que está sobre o seu elmo. Volte para a Dinamarca e nunca mais retorne ao nosso reino. Leve o seu arcebispo consigo e os seus homens, também, com a exceção de Ebbe Sunesson, que tem contas a ajustar. Na próxima vez, não irei salvar mais a sua pele, juro, diante de todos que aqui estão e diante de Deus.
O rei Sverker não tinha uma escolha difícil. Sem pensar muito, tirou a coroa de cima de seu elmo, avançou um pouco seu cavalo e a entregou a Erik.
Mas o marechal Ebbe Sunesson, entendendo que a sua vida não valia mais nada, exigiu em voz alta e sem tremor na voz enfrentar em duelo aquele folkeano covarde que não o quis enfrentar antes e cujo irmão ele já tinha matado.
O rei Erik e os folkeanos ficaram sobressaltados ao compreender que era de Arn Magnusson que o marechal dinamarquês estava falando. Ficaram olhando de lado uns para os outros como se não tivessem ouvido direito.
— É verdade — disse Arn — que antes evitei matá-lo, vingando a morte de meu irmão que você matou por puro prazer. Eu tinha feito um juramento para Sverker, mas desse juramento me libertei agora. Agradeço a Deus por Ele me escolher para dar a você o prêmio que merece.
Com essas palavras, Arn dirigiu o cavalo para o lado e puxou pela espada, abaixando a cabeça numa prece que mais parecia de agradecimento do que um pedido pela sua vida.
Ebbe Sunesson, que era um dos poucos homens presentes que ainda não tinha entendido quem ele tinha escolhido para duelar, puxou em triunfo pela sua espada e cavalgou em boa velocidade na direção de Arn. E no momento seguinte a sua cabeça caía na neve.
Sverker Karlsson, o seu arcebispo Valerius e mais alguns homens seguiram para a Dinamarca. Estavam entre os vinte e quatro que voltaram. O exército que Valdemar, o Vitorioso, mandou contra os sveas e os gotas era composto por mais de doze mil homens. A morte e o saque em Lena continuou à luz do fogo por toda a noite e ainda no dia seguinte.
O rei Erik, que se retirou para o forte Näs a fim de aí passar o inverno, tinha recebido a coroa das próprias mãos de Sverker. Isso foi bem pensado por parte de Erik, pois nem a Igreja romana ousou desmentir que ele fosse, realmente, o novo rei dos sveas e dos gotas.
Mas ele também resolveu poupar a vida de Sverker Karlsson, mesmo com ela nas suas mãos. Foi uma atitude nobre e digna de um soberano. Mas, tal como se veria dali a alguns anos, não muito sábia.
A vitória em Lena foi a maior na história da Escandinávia e teve muitos pais.— Para os erikianos, a maioria dos quais se encontrava na parte sul da Götaland Ocidental, impedidos de chegar a Lena, a vitória, sem dúvida, era do rei Erik e dele só. Passara por uma prova difícil e se mostrara digno da coroa.
A maioria dos folkeanos achava que fora a sua nova cavalaria que decidira a batalha. E se alguém objetava, que acima de tudo tinham sido os arqueiros de longa distância que haviam massacrado os dinamarqueses, respondiam os folkeanos, dizendo que, de qualquer maneira, os arqueiros eram gente sua, entre criados, escravos, libertados e camponeses, que fizeram por seus patrões o que estes lhes tinham mandado fazer.
A explicação mais curiosa para a maravilhosa vitória em Lena foi dada, no entanto, pelos sveas, visto que na Svealand estava se espalhando na época a lenda de que o deus Odin, depois de uma longa ausência, tinha voltado. Muitos dos combatentes sveas contavam ter visto com os próprios olhos o deus Odin de manto azul, montado no seu cavalo Sleipner, à frente deles, no campo de batalha.
A explicação pagã dos sveas de que o seu ídolo Odin era o vitorioso, irritou todos os bispos dos três países que, em uníssono, acabaram falando dos púlpitos, de Aros Oriental, Strangnäs e õrebro até Skara e Linkõping, dizendo que Deus Pai em Sua inescrutável graça havia concedido a vitória aos sveas, aos gotas e ao rei Erik. Essa afirmação feita por todos os bispos teve o lado bom de dar a entender que, nesse caso, o rei Erik é que tinha sido o grande vencedor, pela vontade de Deus, como foi nitidamente demonstrado. Assim, quando os bispos se reuniram em conselho real em Näs, eles voltaram a confirmar que Erik era, indiscutivelmente, o rei. Mas quando Erik pediu para ser coroado, eles se complicaram, dizendo que sem um arcebispo isso não podia ser feito. E quem devia nomear o novo arcebispo no lugar de Valerius, o deportado, era o novo arcebispo Andreas Sunesson, em Lund. Da parte deste, todavia, não havia muita boa vontade a esperar, visto que ele não era apenas um dos homens de Valdemar, o Vitorioso, como também o irmão dos comandantes do exército dinamarquês, Ebbe, Lars, Jakob e Peder. O único que teve um sepultamento cristão na Dinamarca foi Ebbe Sunesson, que recebeu autorização para voltar, ainda que sem cabeça.
Essa situação em que a Dinamarca era quem nomeava o arcebispo para os sveas e os gotas era, evidentemente, absurda e decerto daria para mudar, através de correspondência com o Santo Padre, em Roma. Mas não era coisa para mudar de uma hora para a outra.
Entretanto, foi bom para o jovem rei ter, desde o início, todos os bispos do seu lado. Uma boa coisa para os folkeanos, com essa nova atitude de boa vontade por parte da nova liga de bispos, foi o término de uma longa pendenga a respeito da missa inaugural da igreja em Forshem, dedicada ao Sepulcro de Deus. A igreja já estava pronta há anos, sem ser reconhecida como casa de Deus. O rei Erik viajou para Forshem a fim de honrar o seu marechal e assistir à inauguração da igreja que Arn Magnusson mandara construir.
Entre o rei Erik e Arn, a amizade se consolidou. Para Arn, Erik tinha crescido em pouco tempo de um jovem inclinado para os prazeres simples da vida para um homem de grande seriedade e dignidade. E para Erik, que acabara de ver o seu marechal em guerra contra um inimigo muito superior, não existia dúvida nenhuma de que Arn fora o grande pai da vitória. Esse reconhecimento também ele deu a Arn diante das personalidades seculares do seu conselho, sem a menor restrição. Entretanto, diante dos bispos, achou mais prudente assegurar que a vitória tinha vindo das mãos de Deus.
Arn não tinha nada contra estimular os bispos no seu discurso sobre David e Golias, visto que qualquer comparação mais ou menos esperta feita por eles fortaleceria a certeza de que Erik tinha vencido pela vontade de Deus e era quem tinha todo o direito à coroa.
Mas, para si mesmo, Arn nutria muitas dúvidas. Em sua vida, ele tinha visto muitas vitórias aparentemente inexplicáveis ou derrotas inesperadas para se convencer de que Deus se preocupava com qualquer pequena luta humana na Terra. Um comando errado de um dos lados, segundo a experiência de Arn, era o motivo mais normal para a vitória pender para o lado contrário.
E os dinamarqueses tinham cometido erros em mais de uma ocasião e, além disso, tinham sido arrogantes. Tinham subestimado o seu inimigo e confiado quase exclusivamente na sua cavalaria pesada, embora devessem saber que a neve esperava por eles. O pior de tudo, por parte deles, foi não terem previsto o uso dos arcos maiores, de longa distância, e terem mandado avançar toda a sua força de choque de uma vez. Tantos erros graves cometidos ao mesmo tempo só poderiam acabar em derrota.
Como marechal do reino, ele devia avisar a todos, antes de mais nada, que era perigosa qualquer atitude de orgulho e altivez. Uma vitória grande como aquela em Lena jamais iria se repetir, se os dinamarqueses decidissem voltar. Certamente, eles não iriam fazer isso por muito tempo, pois muito tempo levaria para recuperar a perda de um exército tão grande, com tantos cavaleiros, cavalos, armas e equipamentos.
Depois de os sveas terem saqueado todos os mortos no campo de batalha, o que demorou quase dois dias, juntaram-se os equipamentos, selas, arreios e flechas em quinze carroças de bois e foi tudo parar em Forsvik. Daria para equipar mais de duzentos novos cavaleiros pesados.
Além disso, obtiveram-se muitos conhecimentos importantes a partir dos equipamentos conquistados. Os dinamarqueses tinham uma maneira nova de defender o corpo das flechas e das espadas. Os seus elmos eram mais fortes e defendiam melhor os olhos, e seus coletes de segurança, em vez de serem de malha simples, eram feitos de camadas de aço sobrepostas como se fossem escamas de peixe onde nem as pontas afiadas como agulhas penetravam.
Esses conhecimentos criaram muitas novas tarefas para os irmãos Wachtian, não apenas em copiar o que de melhor houvesse nos equipamentos dinamarqueses como também em criar novas armas que pudessem perfurá-las melhor do que aquelas que já tinham. Uma dessas armas era o longo martelo-espigão, com a cabeça normal de martelo de um dos lados e um espigão bem afiado e calibrado do outro lado, feito para abrir um buraco em qualquer elmo. Uma outra arma que eles discutiram e planejaram junto com Arn era uma besta mais leve para cavaleiros, que pudesse ser disparada com uma mão só. Levou tempo para aperfeiçoar essa arma, visto que ela devia conjugar qualidades aparentemente inconciliáveis. Deviam ser fortes o suficiente para permitirem a perfuração de placas de aço, mas leves o suficiente para poderem ser disparadas por apenas uma das mãos, já que a outra estaria ocupada com as rédeas e o escudo.
O arco em si devia ser de aço especialmente calibrado para ser pequeno, mas de alta força de penetração. Neste caso, a correia articulada rompia-se ao esticar. Era preciso usar os fios entrelaçados de aço, produto estrangeiro, importado e muito caro. E quando se conseguiu um arco suficientemente duro, na realidade, ficou tão duro que não dava para esticar de cima de um cavalo. Jacob e Marcus construíram então um puxador com gancho e roda dentada que dava para esticar o arco da besta quase sem esforço.
Para que a arma, depois, pudesse ser disparada com uma mão só, eles encurtaram a haste e botaram no final um gancho que o atirador poderia prender no braço, mas então o gatilho teve de ser mudado e ficar na frente.
Era preciso paciência e reflexão e isso custava muito, mas, ao final, havia uma arma com a qual qualquer cavaleiro ligeiro poderia se aproximar de um inimigo pesado e abatê-lo com um único disparo certeiro.
Um marechal do reino precisava estar preparado para o pior. Esse era um pensamento permanente de Arn, do qual sempre falava em todas as ocasiões quando surgia a oportunidade, embora outros conselheiros e amigos estivessem convencidos de que, no momento, se vivia num período de boa e eterna paz em função da vitória em Lena que foi incompreensivelmente grande.
O pior que podia acontecer era os dinamarqueses voltarem com um número igual de cavaleiros pesados na época de verão, sem subestimarem o seu inimigo e sem se deixarem enganar pela nuvem de flechas, capaz de esconder o sol, disparadas pelos arqueiros de longa distância.
A arma mais forte dos dinamarqueses era a grande quantidade de cavaleiros bem defendidos e pesados. Um ataque com um grande grupo desses cavaleiros soava como um murro dado com punho de ferro em qualquer que fosse o exército. Se esses cavaleiros fossem mandados para a frente no momento certo.
A falta de cavalaria pesada era a grande fraqueza nos gotas, mas acima de tudo nos sveas. A conclusão simples, mas desagradável, era a de que os exercícios de treino em Forsvik teriam de mudar radicalmente nos próximos anos. Todos os folkeanos adultos teriam de se apresentar em Forsvik para receber novos equipamentos, tanto para si como para os seus cavalos. E depois ficariam praticando seus exercícios por quanto tempo quisessem, treinados por jovens senhores num campo perto de Forsvik que se tinha tornado tão concorrido que a grama nem mais crescia. O próprio filho de Arn, Magnus Mâneskõld, estava entre os muitos senhores que vieram para aprender o que a nova guerra exigia.
Sem dúvida, era mais fácil treinar cavalaria pesada. Os cavaleiros não precisavam de muito mais do que aprender a cavalgar bem junto uns aos outros, com a lança em riste, sem hesitar, uma vez a caminho. A arte era a de não mandá-los para a frente na hora errada. Por isso, Arn achava que os jovens cavaleiros de Forsvik deviam ser aqueles que assumiriam a responsabilidade da guerra. Mas isso todos os principais folkeanos achavam que era uma exigência impossível. Homens como Magnus Mâneskõld e Folke, o conde, jamais poderiam receber ordens de comando de jovens que poderiam ser seus próprios filhos. Uma ordenação como essa jamais tinha vigorado, nem na terra dos gotas nem na dos sveas.
Na nova sala de armas de Forsvik, Arn mandou colocar uma grande caixa de areia e à volta reunia os jovens cavaleiros e comandantes de esquadrão umas duas vezes por semana para, entre montes e vales, formados pelas suas mãos, colocar pedaços de ramos de árvores diversas e de ramos de pinheiros ou quadrados representando soldados a pé, a infantaria. Com esses elementos simples, ele tentava ensinar tudo o que sabia a respeito do que acontecia nos campos de batalha. Mas apenas os homens mais jovens gostavam de aprender esse tipo de coisa. Todos os folkeanos mais velhos acreditavam muito mais e em dobro na sua coragem e dos seus parentes e amigos do que nos conhecimentos adquiridos através de pedaços de ramos de árvores.
Uma outra maneira de se preparar para a guerra em que ninguém acreditava que viesse, nem mesmo o próprio Arn, era a de montar novas escolas, como a de Forsvik. O cavaleiro Sigfrid Erlingsson tinha herdado um burgo em Kinnekulle e foi lá que ele começou a treinar jovens e, pelo menos, uns cem arqueiros de longa distância entre camponeses e escravos. O cavaleiro Bengt Elinsson tinha agora dois burgos, visto ter herdado Ymseborg depois do assassinato dos seus pais e Algaräs, do seu avô. Em Ymseborg, ele criou uma escola própria. E Àlgaräs foi comprada por Arn e Eskil e dada em comodato para o cavaleiro Sune Folkesson, desde que ele se comprometesse a criar três esquadrões de cavalaria ligeira e a treinar duzentos arqueiros de longa distância. Forsvik mudou cada vez mais, passando a ser uma escola e produtora de armas para a cavalaria pesada.
Em especial para Sune Folkesson foi emocionante e difícil separar-se de Arn e Cecília. Em confiança, contou para eles toda a saga do grande amor entre ele e a filha Helena, do rei Sverker, como esse grande amor lhes poderia ter custado a cabeça e como ele tinha jurado que um dia, com um esquadrão de folkeanos, iria tirar Helena do convento de Vreta, onde ela ainda continuava, secando, embora seu pai tivesse fugido com o rabo entre as pernas para a Dinamarca.
Cecília e Arn eram, certamente, as duas pessoas em toda a Götaland Ocidental que melhor podiam se comover com esse tipo de história. Também eles nunca tinham atraiçoado o amor devotado um pelo outro, nunca tinham perdido as esperanças e suas virtudes tinham merecido recompensa.
No entanto, Arn foi implacavelmente duro com Sune, que esperava autorização para poder viajar de imediato para Vreta.
Um seqüestro em convento, pois isso era exatamente do que se tratava, por mais voluntária que fosse a saída de Helena, iria irritar todo o grupo de bispos. E uma luta interna desse tipo, o novo e ainda instável reino não poderia tolerar. Enquanto o antigo rei Sverker vivesse, ele seria o pai responsável pelo casamento de Helena e esse direito ninguém lhe poderia tirar. E enquanto ele fosse o responsável, o ato seria de seqüestro em convento, por muito que os jovens amantes quisessem acreditar em qualquer outra coisa.
Arn podia ver apenas uma saída para Sune, o que seria ao mesmo tempo uma grande infelicidade para todos. Se Sverker voltasse com um segundo exército dinamarquês, caso o rei Valdemar, o Vitorioso, realmente, não tivesse ficado satisfeito em ver todos os seus homens mortos uma vez, então o seqüestro deixaria de existir. Já que o rei Sverker estaria morto.
Nem mesmo Cecília, por muito que ela se emocionasse com o amor dos jovens, podia deixar de concordar, ainda que entristecida, com o que o seu marido tinha falado. O seqüestro em convento era um crime hediondo e, mesmo não considerando o que os bispos pudessem pensar, era um pecado não passível de penitência.
Um único homem no reino esperava agora que houvesse uma nova guerra, e ele era o sofrido cavaleiro Sune, que se retirou para Algaräs para começar uma nova vida como professor de guerra em seu próprio burgo. Arn mandou todos os sarracenos restantes com ele para construir muros de pedra onde os de madeira tinham sido incendiados.
Num dia aprazível de primavera em que Alde Arnsdotter fez dezessete anos, realizou-se um grande banquete como há muito não acontecia em Forsvik. Como havia poucos jovens senhores em curso comparando com outros anos, todos puderam se reunir na grande sala, não só os cristãos, mas também os crentes de outra fé. Uma sensação de bem-estar se espalhou, a sensação de que todos em Forsvik faziam parte de uma mesma família, embora nem sequer todos falassem a mesma língua. Forsvik não era apenas a maior produtora de armas, mas também um lugar onde se criavam muitas riquezas. E todos os forsvikianos contribuíam para isso. Ferreiros e moleiros, mestres vidreiros e produtores de utensílios de cobre, madeireiros, afiadores de espadas, produtores de tijolos, pedreiros, produtores de flechas, de cobertores e de selas e caçadores, todos eles se sentiam tão forsvikianos como os jovens senhores aprendizes ou seus professores. Alde era também muito querida de todos pelo seu riso fácil e alegre e pela vontade com que ela participava naquilo em que cada um era especializado.
Tanto ela como o jovem Birger Magnusson já estavam há mais de sete anos aprendendo com o irmão Joseph e com isso tinham esvaziado a sua fonte de sabedoria e ele foi começar tudo de novo com um pequeno grupo de crianças cristãs. Alde era quem um dia ia herdar Forsvik e os conhecimentos de que ela precisava já não os podia receber do irmão Joseph. Em seu lugar, Cecília assumiu a responsabilidade de ensinar à sua filha os segredos dos seus livros de contas, que eram o coração e a cabeça de todas as riquezas criadas, tanto com as mãos como com o espírito. Mas para que Alde entendesse melhor a contabilidade, ela acompanhou a sua mãe nos contatos com os trabalhadores, tentando seguir todos os pequenos detalhes das obras.
Também para Birger Magnusson, o tempo com o irmão Joseph tinha terminado e já estava no terceiro ano de estudo entre os jovens senhores, tendo o cavaleiro Sigurd como comandante. Como era neto de Arn, recebeu o favor que não era dado aos jovens senhores normais. As lecciones de Arn na sala dos cavaleiros sobre lógica nos campos de batalha eram apenas para os cavaleiros nomeados e comandantes de esquadrão de Forsvik, mas excepcionalmente Birger poderia assistir a elas, a partir daquele momento.
Arn tinha mais tempo para os dois jovens do que nunca, em Forsvik. Seu irmão Gure tratava de tudo o que tivesse a ver com oficinas e construção. Cecília tomava conta de todo o comércio naval e os jovens cavaleiros e os comandantes treinavam os novos jovens folkeanos com a espada, a lança e o cavalo. Arn estava agora com mais espaço na vida ou, pelo menos, tinha adquirido uma nova visão de como se dedicar àquilo que mais havia desconsiderado por tempo demais. Aí inclusos a sua própria filha Alde e o sobrinho dela, Birger.
Ele não duvidava que o irmão Joseph lhes tinha ensinado bem as duas línguas mais importantes, o latim e o francês. Portanto, se quisesse podia falar com eles em qualquer dessas línguas ou ainda na língua do país. Também não duvidava de que o irmão Joseph lhes tivesse ensinado a filosofia e a lógica, a gramática e as Sagradas Escrituras.
Mas havia uma coisa da qual qualquer devotado e sábio cisterciense, por muito bom que fosse, não entendia nada. Uma coisa que não existia em qualquer escritura sábia e que só poderia ser aprendida no campo de batalha ou nas reuniões do conselho do rei e com os mais poderosos dos membros da Igreja. Não havia palavra nenhuma para essa sabedoria, mas Arn dava a ela o nome de doutrina do poder. Arn ia começar a dar aulas para Alde e Birger sobre essa ciência.
O mais importante na doutrina do poder, segundo Arn, era entender como o mau podia ser bom e o bom podia ser mau e apenas um olhar muito bem treinado poderia saber onde estava a diferença entre uma coisa e outra. O poder podia apodrecer ou florescer como as rosas que agora cresciam à volta da sua casa e de Cecília e nos jardins perto do lago. As mãos delicadas de Cecília tratavam dessas rosas amadas de Varnhem, com a tesoura e água.
E aquilo que era a água da vida não era difícil de entender. Era a palavra de Deus, a fé pura e altruísta, que podia levar o poder a crescer como bom.
A força, evidentemente, dava poder. Muitos cavaleiros com coletes de aço representavam força e, com isso, poder. Mas a força temente a Deus precisava saber usar do jeito certo. Como disse São Paulo na Carta aos Romanos:
"Nós que somos fortes temos o dever de ajudar os fracos com os seus fardos e não devemos pensar em nós mesmos. Cada um de nós deve pensar no próximo em tudo o que for bom e positivo."
Essas palavras de Deus eram como a água da vida e, segundo essas palavras, tentava-se também viver e construir em Forsvik.
O mais difícil de entender, contudo, era como a água clara da fé, absorvida com exagero, podia embaralhar os sentidos das pessoas, como aconteceu na Terra Santa. Embora fosse preciso tentar ver para onde iam esses canalhas da fé, antes de ser tarde demais. E isso só poderia ser feito com bom senso. Nenhum ódio de bispo consegue ser maior do que o bom senso.
Se Arn tivesse falado assim durante o seu tempo como cavaleiro da Ordem dos Templários a serviço de Deus e da Santa Virgem Maria, o seu manto teria sido arrancado e seu corpo condenado a uma longa penitência, confirmou ele. Já que para muitos dos mais altos guardas da fé não existia nenhuma diferença entre a fé e o bom senso. A fé era tudo, grande e indivisível. O bom senso, apenas a vaidade e o egoísmo de cada ser humano. Mas Deus deve ter desejado que as pessoas, Suas crianças, devessem aprender algo de grande e de importante com a perda de Sua Sepultura e da Terra Santa. Qual seria o motivo de tal punição?
E aquilo que se aprendia era que a consciência fazia o papel de freio do poder. O poder sem consciência estava condenado a afundar na maldade.
Mas o poder era também coisa pequena e cansativa, monótona, como o trabalho do lavrador no campo. Em algumas oportunidades, Arn levou Alde e Birger para a reunião do conselho do rei em Näs onde puderam ficar sentados em silêncio como ratinhos atrás dele e de Eskil, que tinha retomado o seu lugar na instituição. De tudo o que viam e ouviam falavam mais tarde durante dias, em casa, em Forsvik. O poder era também a possibilidade de costurar vontades diferentes, o que era uma qualidade especialmente importante para um soberano. Não raramente, o rei Erik achava que os membros seculares do seu conselho tinham um ponto de vista completamente diferente do dos bispos que pouco se interessavam pela construção de fortalezas, os custos da nova cavalaria ou as taxas alfandegárias impostas pelos dina— marqueses. Preferiam muito mais falar de ouro e prata para a Igreja ou da possibilidade de novas cruzadas para os países no leste constantemente saqueados por essas cruzadas. O poder do rei estava em saber que não devia falar alto, bater com o punho na mesa e ficar com o rosto vermelho. Antes, levar todos os conselheiros, tanto seculares como espirituais, a concordar com uma decisão comum que talvez não satisfizesse a ninguém, mas que talvez não desagradasse de todo a cada um. O que o rei Erik demonstrou ao conseguir desse jeito resolver a maior parte das questões do modo que queria, mas nunca pelo preço da dissensão dentro do conselho, era um outro lado do poder, em que o abençoado Birger Brosa foi o mais forte de todos os folkeanos.
Mais um outro dos lados do poder era aquele exercido por Eskil, o tio de Alde e tio-avô de Birger. Eskil era o mais forte no comércio entre os diversos países e na capacidade de colocar em movimento com esse comércio somas enormes e tão poderosas quanto a espada.
A fé pura dirigida pela consciência, a espada e o ouro eram, portanto, os três pilares em que o poder descansa. Muitos homens se achavam chamados a servir um dos lados dessa trindade do poder, mas poucos conseguiam dominar todos os três. Os reis, no entanto, precisavam possuir grande conhecimento de tudo nessa trindade de poder. Caso contrário, eram destituídos como aconteceu com o rei Sverker.
Cecília não estava convencida de que esse tipo de conversa era aquele de que a sua filha necessitava, e bem dentro si sentia que existia um grande perigo num lugar como Forsvik de uma jovem mulher ser educada como um homem. O jeito como Alde cavalgava não podia ser descrito como o de uma jovem amiga de cavalos, ainda que ela tivesse recebido uma das mais queridas éguas árabes no dia do seu décimo segundo aniversário.
Como a própria Cecília era uma cavaleira muito boa, ela tentou de início manter Arn e os jovens senhores à distância dos exercícios de Alde a cavalo, acompanhando a sua filha. Mas ela não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e as contas tomavam todos os seus dias, e logo ela viu Alde cavalgando a galope junto com Birger e os outros jovens senhores. Não ajudava muito se preocupar ou se lastimar sobre a questão.
E quando o outono chegou e a grande batida de caça começou, e a primeira neve caiu, Alde estava entre os atiradores que os caçadores tinham escolhido para ficar na espera, enquanto todos os outros cavaleiros de Forsvik saíram rodando em forma de uma ferradura, empurrando os animais silvestres para o local de espera. Já no segundo ano, Alde abateu o seu primeiro javali.
Entretanto, na vida, já tinha chegado como que a época da colheita, achava Cecília. O seu cabelo e o de Arn já estavam grisalhos e há muito que os dois já se encontravam mais próximos da morte do que do nascimento. Ainda que fosse maravilhoso continuar a viver quando tudo corria tão bem e lhes caía tudo nas mãos e nenhum mal ou perigo estava à vista, nem longe no lugar onde o céu e a terra se encontravam.
Ainda no último Natal antes da guerra, ela se lembrava desse tempo de tranqüilidade e segurança.
Tinham festejado o Natal em Arnäs, na grande sala de pedra bem aquecida e nunca a vida tinha parecido tão boa. Na missa, em Forshem, Arn perdeu a timidez e se mostrou orgulhoso pela igreja que mandara construir e até pela sua imagem em pedra por cima do portão como aquele que oferecia a Deus as chaves da igreja. Desde que os bispos ficaram mais fáceis e acessíveis depois da vitória em Lena, vários deles tinham assegurado a Arn que não havia pecado nem arrogância nessa imagem. Ao contrário, seria até um bom exemplo a seguir por todas as pessoas. Pois que ação mais vistosa haveria do que custear uma igreja com uma dedicatória tão agradável a Deus como a de nomeá-la como a Sua Sepultura?
A sepultura estava localizada no final do corredor central, no meio da igreja, diante do altar. E estava ornamentada com os melhores trabalhos de Marcellus. Na última missa do Natal antes da guerra, Arn e Cecília cantaram juntos e sozinhos os salmos da missa, com ela fazendo a primeira voz e ele, a segunda. Talvez as suas vozes não fossem tão puras como antes, mas de qualquer forma as palavras de todos foram que viram os anjos de Deus diante de si ao ouvi-los cantar.
Os dinamarqueses chegaram no meio do verão de 1210, dois anos e meio, depois da vitória em Lena. Sverker Karlsson estava decidido a conquistar de novo a sua coroa de rei e, pior ainda, conseguiu convencer o rei Valdemar, o Vitorioso, a lhe dar um novo exército que era quase tão grande quanto aquele que fora dizimado durante a guerra no inverno.
Logo após a primeira mensagem sobre a chegada do inimigo ao reino, Arn se jogou para o sul de Forsvik com três esquadrões de cavalaria ligeira para recolher informações, enquanto eram expedidas mensagens pedindo ajuda da Svealand e da Noruega.
Desta vez não iria ser tão fácil, achou Arn, já no segundo dia, quando ele e os seus cavaleiros passaram ao lado do exército dinamarquês. E ao chegar ao meio, onde Sverker Karlsson e o seu bispo Valerius cavalgavam, o seu coração ficou apertado por um medo frio e puro como ele nunca tinha sentido desde o seu primeiro ano na Terra Santa. À volta de Sverker Karlsson cavalgavam quase cem homens com a veste e o escudo dos hospitalários, a veste vermelha com a cruz branca.
O que levou os hospitalários a se alinhar com Sverker Karlsson ou Valdemar, o Vitorioso, não era fácil de entender. Mas uma coisa era certa: cem hospitalários valiam quase tanto quanto cem templários e, de uma força assim, até mesmo Saladino iria ter medo. Uma força, assim, ninguém na Escandinávia conseguiria vencer.
Cada hospitalário, assim como um templário, valia por dez dinamarqueses ou como cinco forsvikianos. O que mais espantava Arn, quando se conformou com o fato de ter de combater contra os melhores cavaleiros do mundo, era que eles não cavalgavam na frente do comboio como costumavam. Assim sempre fora na Terra Santa: os hospitalários na frente e os templários atrás, já que esses lugares eram os mais vulneráveis de um exército em marcha. Mas neste caso os hospitalários iam no meio, deixando os suprimentos atrás e os dinamarqueses na frente em perigo de serem atacados pela cavalaria ligeira. Arn queria crer que os dinamarqueses tinham decidido que defender a vida de Sverker Karlsson era a coisa mais importante dessa guerra e, por isso, preferiam ter perdas na frente e no final do comboio do que arriscar a vida do aspirante ao trono.
Desta vez, o exército dinamarquês dirigia-se para Falkõping como se os dinamarqueses quisessem voltar a Lena para se vingar da derrota anterior. Estavam no meio do verão e a colheita ainda não tinha sido feita, mas não era de grãos que eles precisavam. Era carne e animais de carga que o inimigo precisava saquear para sua manutenção. E mesmo que o exército dinamarquês estivesse menos defendido no final onde rodavam todas as carroças de bois com suprimentos, não seria inteligente um ataque a esse lugar antes de terem passado por Falkõping.
Mais importante nesse caso era voltar e avisar os habitantes de Falkõping e tentar fazer com que eles escondessem todos os bois e animais domésticos que, caso contrário, iriam parar nas bocas dos dinamarqueses. Demorou dois dias para fazer isso, e quando o exército dinamarquês chegou a Falkõping encontrou a cidade vazia de tudo quanto o inimigo queria saquear.
Arn estava mais cauteloso do que nunca no seu comando e demorou quase uma semana antes de fazer qualquer outra coisa que não cavalgar ao lado e para a frente e para trás da longa cobra de soldados a pé e de cavaleiros inimigos. Estava esperando por reforços da parte de Bengt Elinsson e de Sune Folkesson, e quando eles chegaram recebeu não só mais cavalaria ligeira, mas também um esquadrão de cavalaria pesada. Então, não podia se permitir por mais tempo essa passividade.
Como o primeiro ataque seria feito, estavam de acordo, sem dificuldades, Arn e os cavaleiros Bengt e Sune. Mas teria de ser feito no lugar certo para poder ser realizado em alta velocidade. Demorou mais um dia, antes de os forsvikianos encontrarem um morro com uma floresta bem esparsa por onde os dinamarqueses teriam de passar. Foi ali que os forsvikianos entraram em formatura de ataque e ficaram esperando.
Os dinamarqueses, a esta altura, já estavam habituados a ver os cavaleiros ligeiros de mantos azuis circulando a distância e nunca se decidindo a entrar em luta e, por isso, o primeiro ataque surpreendeu, não apenas como se fosse um relâmpago caindo de um céu sem o nuvens, mas também por causa do seu peso. Três esquadrões de cavalaria ligeira, de repente, saíram de uma floresta de faias, cavalgando de viés em direção à cabeça do comboio. Ao se aproximarem, os cavaleiros formaram uma linha lateral, se aproximaram ainda um pouco mais e dispararam cada um a sua besta especial, deixando um tumulto de cavalos relinchando e de homens gritando atrás de si. Ao chegarem, tinham feito pontaria para as pernas dos cavaleiros inimigos. Se acertassem, seria um cavaleiro a menos e um ferido a mais para transportar. Se não acertassem na perna, matariam de qualquer forma mais um cavalo. Quando os últimos dos cavaleiros ligeiros já iam desaparecendo, entrou em ação o esquadrão de cavalaria pesada, de lado e em alta velocidade, de lanças em riste, contra o já bem dilacerado grupo da frente do exército dinamarquês. E assim tão rápido como chegaram, os forsvikianos partiram de volta, deixando para trás mais de cem mortos ou bem feridos.
Em dois dias seguidos, eles fizeram mais ou menos o mesmo ataque. Quando os dinamarqueses mudaram os soldados a pé com os seus escudos e arcos para defender a frente da coluna, não aconteceu mais nada naquele lugar. Em vez disso, os forsvikianos atacaram a parte de trás do exército, matando quase todos os animais de carga e botando fogo na maior parte do estoque de mantimentos, antes de desaparecer novamente diante da chegada dos cavaleiros da cruz branca sobre fundo vermelho que vieram em auxílio dos seus companheiros. Arn tinha dado ordens severas para evitar qualquer luta contra esses cavaleiros.
Quando os dinamarqueses reforçaram a defesa à frente e atrás com soldados e arqueiros, o ataque veio em direção a um terço da frente do comboio, num lugar onde a maioria dos soldados a pé marchavam tumultuadamente. Arn liderou o esquadrão de cavalaria pesada contra o exército dinamarquês, abrindo uma rua bem larga de mortos e feridos no meio da tropa inimiga, por onde a cavalaria ligeira entrou de espada em punho.
Assim continuou a guerra durante uma semana, enquanto os dinamarqueses continuavam a sua marcha na direção da mesma área a oeste do lago Vättern, como da primeira vez. O que eles estavam pensando era difícil de saber. No inverno, tinham uma possibilidade de atravessar o lago por cima do gelo e chegar a Näs. E agora, no meio do verão? Arn estava convencido de que iriam ficar acampados perto do forte de Lena ou iriam tomá-lo, esperando depois pelo inverno e o gelo, já no lugar e descansados, em vez de chegarem de uma cansativa marcha sobre a neve. Portanto, tempo não era problema. Tratava-se de ter paciência e usar a cabeça, antes de se lançar cedo demais numa grande batalha.
Arn entregou o comando das suas forças de cavalaria a Bengt Elinsson e Sune Folkesson e viajou para Bjälbo onde os sveas e a maioria dos folkeanos e erikianos estavam reunidos. Desta vez os erikianos não ficaram no sul, de acesso cortado e impedidos de participar, antes conseguiram subir para o norte, passando pela praia oriental do lago Vättern. O rei Erik estava entre os seus parentes e amigos.
O conselho de guerra que então se reuniu terminou, segundo Arn, de maneira infeliz. Os sveas e o líder folkeano da Götaland Oriental, Folke, o conde, queriam partir para a luta contra os dinamarqueses o mais cedo possível. De preferência, queriam a guerra terminada antes da colheita. O rei Erik tentou longamente fazer prevalecer a opinião de Arn, de que deviam esperar o máximo possível e deixar que, entretanto, a cavalaria forsvikiana fosse batendo no exército dinamarquês. Já tinham sido abatidos uns cem cavaleiros e reduzido a sua força, após a perda de animais de carga e de cavalos. Eram os dinamarqueses que estavam em território inimigo. Eram eles que tinham o exército mais poderoso por enquanto e eram eles que tinham mais condições de vencer numa luta decisiva antes da colheita.
Mas o líder dos sveas, o juiz Yngve, achava que isso era conversa para mulheres dormirem e pouco condizente com a dignidade do abençoado Santo Erik. E que esperar mais pela luta iria cansar os homens fortes. Era melhor demonstrar coragem quando a vontade de se debater era maior.
Para decepção de Arn, Folke, o conde, e Magnus Mâneskõld concordaram com todos os discursos a favor da luta final o mais cedo pos— sível, para salvar a colheita. Talvez estivessem sendo vítimas do orgulho, depois da vitória afortunada em Lena, dois anos e meio antes.
Nem mesmo a objeção de Arn, de que se devia esperar pelo reforço dos noruegueses, que desta vez mandaram mensagem com a promessa de chegar com muitos homens para ajudar, nem mesmo isso fez mudar a posição dos cabeças-duras dos sveas. Como de hábito, queriam morrer de imediato.
Decidiu-se que todo o exército seria embarcado para o outro lado do Vättern assim que possível para depois seguir para o sul e enfrentar os dinamarqueses mais ou menos no mesmo lugar abençoado da primeira vez.
Com a consciência pesada, Arn viajou para Forsvik para reunir todo o pessoal que pudesse montar a cavalo, com armas, carregar as carroças com carnes, armas e escudos e mandar mensagens para todos se reunirem ao sul, perto de Lena.
Para desespero de Cecília, ele levou também Birger Magnusson, de apenas dezesseis anos de idade, como seu porta-estandarte, aquele que o devia acompanhar com a bandeirola nova, azul, com o leão folkeano de um dos lados e as três coroas erikianas do outro. No seu próprio escudo, Arn mandou pintar uma cruz vermelha dos templários ao lado do leão, assim como em seu tempo Birger Brosa tinha um lírio e o seu filho Magnus tinha uma lua nova. Para Cecília ele disse que o jovem Birger estaria mais seguro a seu lado do que em qualquer outro lugar. Desta vez, o dever de Arn não era o de combater sem medo, mas, sim, o de se manter vivo até que a batalha estivesse ganha, já que no reino existia gente demais, disposta a morrer rapidamente.
Durante oito dias, Arn e os seus forsvikianos tentaram retardar a luta final através de ataques diários contra o exército dinamarquês. Mas quando estavam a menos de um dia de marcha de um lugar ao sul de Lena, que se chamava Gestilren e onde estavam reunidos e esperando sveas, folkeanos e erikianos, além dos recém-chegados noruegueses sob o comando de Harald Dysteinsson, Arn decidiu que não dava para agir cautelosamente por mais tempo. Estava na hora de começar a atacar o grupo de hospitalários no meio do exército inimigo que até então tinha evitado. Isso não iria acontecer sem grandes perdas do seu lado. Mas os forsvikianos eram os únicos que poderiam ter uma chance mínima contra os hospitalários, e quando a batalha final estava prestes a acontecer, ainda que loucamente cedo, os forsvikianos precisavam assumir suas responsabilidades.
Arn, ao dizer isso, colocou-se ele próprio em apuros. Não podia mais se manter em segurança ao se lançar ao ataque. Mudou de armamento para cavalaria pesada e mudou de cavalo, decidindo que ele comandaria dois esquadrões bem no centro entre os vermelhos, depois dos cavaleiros ligeiros terem atacado com as suas bestas especiais.
Os forsvikianos estavam bem situados numa floresta alta e fazendo as suas preces enquanto esperavam. A tensão e o silêncio aumentavam entre eles e só se ouvia um ou outro resfolegar ou um ou outro tilintar de estribo. Embaixo, entre os troncos das faias, viram chegar os dinamarqueses a trote com o sol pelos olhos, despreocupados e falando entre si. Era como se estivessem agradecidos pela tranqüilidade de terem sido deixados em paz durante dois dias. Mas Arn tinha escolhido muito bem o lugar certo e o horário, por causa do sol, para o ataque.
Arn pediu perdão a Deus por ter que atacar os seus irmãos hospitalários, mas tentou se desculpar, dizendo que não havia outra coisa a fazer quando foram eles que vieram como inimigos, invadindo a sua terra para matar os seus próximos e mais queridos. Por sua vida, ele não pediria desta vez, pois achava isso pretensioso, diante de um ataque contra os seus queridos irmãos cristãos. Mandou o cavaleiro Bengt e o cavaleiro Sune saírem com os seus homens, fazendo um grande arco na descida para surgirem com o sol pelas costas contra o grande grupo de cavaleiros de vermelho e branco. E, talvez, na melhor das hipóteses, levantar tanta poeira quanto possível, de forma que o inimigo só descobrisse o que estava por trás da fila de cavaleiros ligeiros de mantos azuis e o que estava para acontecer quando já fosse tarde demais.
Deus vult, pensou ele, sem poder evitar as palavras e ao levantar o braço que colocou em movimento os seus homens num trote leve. Ao sair da floresta, eles corrigiram as posições, se alinhando e ficando bem juntos, joelho contra joelho, de maneira a não abrir nenhum buraco. Então, aceleraram para trote rápido.
Arn manteve o olhar no último dos cavaleiros ligeiros forsvikianos que cavalgavam lá embaixo, provocando uma espantosa confusão e muito medo entre os hospitalários que nem sequer tinham adotado a habitual formatura de defesa.
E, então, ele soltou o seu sinal de ataque, repetido por todos junto dele e, no momento seguinte, dispararam com as lanças em riste, entrando no meio dos cavaleiros de vermelho e branco que caíam sem resistência e quase nem sequer tentavam escapulir dos golpes. Os forsvikianos saíram do outro lado da coluna sem terem perdido um único homem sequer. E quando Arn viu isso, mandou virar toda a sua tropa e investir de novo com força total. Depois, a confusão foi tão grande que impedia uma terceira investida.
Tinham perdido apenas dois homens quando se reuniram aos esquadrões ligeiros que estavam aguardando. Arn examinava a grande confusão que continuava reinando naquela parte do exército que lhe tinha parecido inconquistável e onde agora quase cem homens estavam mortos ou feridos. Aquilo que ele via era impossível e isso fez com que pensasse duas vezes. Se os forsvikianos, com um único ataque, tinham derrubado tantos hospitalários, isso só poderia ser um milagre de Deus. Mas que Deus derrubasse os Seus próprios combatentes mais fiéis com uma tal punição, ele não podia acreditar, tanto quanto não acreditava que Deus constantemente se imiscuísse nas pequenas lutas das pessoas na Terra.
Os dinamarqueses tinham usado de um estratagema, achou ele. Tinham colocado as vestes vermelhas com a cruz branca para fingir que eram hospitalários e com isso meter medo ao inimigo. E haviam sido, sem dúvida, bem-sucedidos.
Sem uma palavra, Arn deu a sua lança sangrenta para o homem mais próximo, chamou o seu porta-estandarte Birger Magnusson, e os dois avançaram em direção aos dinamarqueses, parando à distância de uma flechada. Então, levantou ambos os braços como sinal de que queria negociar. E logo vieram seis cavaleiros de vermelho na sua direção.
Primeiro, Arn cumprimentou-os em francês de que eles não entenderam nem uma palavra. E, então, passou a falar na própria língua, pedindo que os dois cadáveres que tinha deixado para trás lhe fossem entregues. Eram parentes queridos que caíram. Os dinamarqueses responderam primeiro que esse negócio não poderia ser feito sem alguma coisa em troca, mas Arn disse, então, que ele, por seu lado, achava que a honra exigia de ambas as partes que esse tipo de negócio se fizesse sem olhar a lucro e que ele, além disso, em breve, teria como fazer troca. Então, os dinamarqueses cederam. Ele perguntou, em seguida, a respeito dos seus uniformes e eles explicaram que lhes fora dado por Deus durante uma cruzada no leste e que a cruz branca sobre a veste vermelha era agora a marca do reino da Dinamarca.
Em Gestilren, existiam vários morros altos e foi aí que Arn colocou a sua cavalaria pesada e os arqueiros de longa distância, já que não acreditava que daria para colocar todos os arqueiros de longa distância no mesmo lugar e que, além disso, os dinamarqueses fossem cair na mesma armadilha pela segunda vez. Embaixo, na planície, estava toda a cavalaria pesada folkeana sob o comando de Folke, o conde, e de Magnus Mâneskõld, e atrás deles todos os besteiros que, por sua vez, estavam no caminho dos já impacientes sveas. Mais atrás, estavam quinhentos arqueiros noruegueses trazidos por Harald Dysteinsson da sua região.
Era uma disposição absurda com todos no caminho uns dos outros. Mas graças a Deus já tinha corrido tanto o dia que a batalha devia ser adiada para o dia seguinte e, assim, teriam a noite toda para mudar tudo, caso desse para conseguir que os sveas e certos parentes altamente colocados e teimosos entendessem que a maneira de formar as tropas em campo na guerra moderna era mais importante do que se ter apenas coragem.
Foi uma noite longa com muitas discussões e mudanças complicadas no escuro, mas na manhã seguinte, já ao amanhecer, quando os dinamarqueses começaram a aparecer no meio da névoa, todos estavam numa posição melhor do que antes.
Arn permanecia junto do rei Erik no morro mais elevado, com toda a parte pesada da cavalaria forsvikiana e dois esquadrões de cavalaria ligeira, com a missão de defenderem o rei ou levá-lo para longe na hora do perigo. Para Arn e seus cavaleiros pesados havia uma única missão. Deviam matar Sverker Karlsson.
Sune Folkesson, que era o homem mais interessado no mundo em tirar a vida do ex-rei Sverker, pediu para mudar para a cavalaria pesada e acompanhar o seu senhor e mestre Arn. A isso Arn não podia dizer não, tanto mais que tinha tentado reunir esse seu grupo com apenas os melhores e mais antigos dos forsvikianos.
Do alto do lugar onde estavam, podiam ver todo o campo de batalha. Se os dinamarqueses mandassem a sua cavalaria, descendo contra os gotas orientais e o povo da Svealand a pé, iriam receber desta vez a nuvem negra de setas dos arqueiros de longa distância pelos lados. Os gotas orientais não atacariam enquanto não vissem uma flâmula azul agitada onde o rei se encontrava. Foi assim que, finalmente, se chegou a um acordo.
A batalha começou bem. Os dinamarqueses tinham descoberto que, também desta vez, eram muito superiores em número e em cavalaria pesada e que eles, atravessando as linhas dos gotas orientais, teriam o caminho livre para dizimar os homens a pé da Svealand.
A tentação foi grande demais para eles. Prepararam-se para atacar dessa maneira. E Arn abaixou a cabeça e agradeceu a Deus.
Mas quando os dinamarqueses partiram para o ataque, Folke, o conde, e Magnus Mâneskõld não esperaram pelo sinal do morro onde estava o rei e partiram logo para o ataque. Por isso, os primeiros da linha de ataque folkeana foram atingidos pela mesma nuvem negra de flechas destinadas ao inimigo. O meio do campo de batalha transformou-se logo em poucos momentos numa única mistura de mortos e feridos e, então, os sveas não puderam se conter por mais tempo e começaram a correr subindo para o lugar do embate e chegaram arfando e cansados. De cima do morro, Arn e o rei Erik viram, impotentes, como tudo estava a ponto de sair do seu controle. A salvação veio de Harald Dysteinsson e seus noruegueses, que do outro lado do vale correram subindo para uma situação em que podiam fazer pontaria e ter a certeza de acertar apenas nos dinamarqueses.
Toda a cavalaria ligeira forsvikiana estava fora de combate. A intenção tinha sido de atacar os dinamarqueses por trás. Mas nessa área havia ainda uma grande e unida força contra eles. O exército dinamarquês não tinha avançado suficientemente longe na armadilha. Arn enviou cavaleiros para o mais depressa possível fazerem avançar os forsvikianos para o meio do campo de batalha com a ordem de atacar de acordo com as circunstâncias e seguindo sua intuição.
Tudo estava para se perder. Isso porque num embate prolongado e desorganizado, vencia quem tivesse mais homens. Arn se despediu do rei Erik, deixou Birger Magnusson com o estandarte duplo de folkeanos e erikianos junto com o rei e seguiu com todos os seus cavaleiros pesados, fazendo um arco para cima e para trás.
Chegaram a um lugar em que podiam ver onde estava Sverker Karlsson e o seu forte grupo de guardas, a uma distância segura da área de combate. Não havia como esperar mais e toda a hesitação apenas faria com que o inimigo se preparasse melhor.
Cavalgando, saíram da floresta em desordem, mas logo voltaram à formatura de ataque, unidos, em linha, e em trote rápido na direção do coração do inimigo. Logo o trote aumentou para galope, com as lanças em riste, já a pouca distância dos dinamarqueses. Ao lado de Arn estava Sune Folkesson, e ambos tinham descoberto onde estava a bandeirola com a marca de Sverker Karlsson, com um símbolo heráldico negro e uma coroa dourada. Os forsvikianos passaram rápido pela primeira linha dos defensores de Sverker, mas depois disso a maioria já tinha perdido velocidade e a lança por se ter quebrado. E esses tiveram de puxar pela espada ou pelo machado de guerra e começar a abrir caminho na direção de Sverker à custa de seus golpes. Cada vez o avanço era mais lento e muitos caíram no caminho.
Mas era tarde demais para voltar. Arn combatia e avançava furiosamente, descobrindo que a sua espada tinha ficado pesada demais nos últimos anos. Foi então que jogou fora o seu escudo, mudou a espada para a mão esquerda e pegou com a direita o seu longo martelo de guerra. Arn matou quatro homens com o martelo e dois com a espada antes de chegar perto de Sverker, no momento em que este se « desviava de um golpe disparado por Sune Folkesson, e com isso expondo o pescoço para Arn que de imediato o matou com o seu martelo de guerra.
Assim que Sverker caiu morto do cavalo, pararam todos os dinamarqueses e sverkerianos em volta e ainda a cavalo. A luta ficou suspensa e todos olharam ao redor. Metade de todos os forsvikianos estava morta, mas mesmo assim ainda eram mais do que os dinamarqueses, que, lentamente, se reuniram em volta do arcebispo Valerius e da sua marca.
Só então Arn descobriu que estava sangrando em vários lugares e que tinha a ponta de uma lança quebrada no diafragma, do lado esquerdo. Não sentia nenhuma dor. Retirou, então, a ponta da lança, jogando-a no chão, e abaixou a cabeça para recuperar o fôlego. Depois, desceu do cavalo, tranqüilamente, avançou para junto do corpo de Sverker e lhe cortou a cabeça. Em seguida, foi buscar a sua lança, em cuja ponta colocou a cabeça de Sverker e o escudo com a marca real na ponta, antes de, com uma certa dificuldade, voltar a montar no seu cavalo. O cavaleiro Sune apanhou o escudo de Arn e o entregou a ele. Os dinamarqueses em volta do arcebispo Valerius tinham terminado de lutar e Arn também não fazia idéia nenhuma de continuar a luta contra eles.
Acompanhado dos restantes forsvikianos da sua cavalaria pesada, Arn cavalgou lentamente para o centro dos combates, levando a cabeça de Sverker e seu escudo bem alto na ponta da lança. Parou a pouca distância e ficou esperando que os primeiros gritos de vitória ou de horror começassem a surgir na sua direção. E com isso terminava a batalha.
Sob aquela quietude e silêncio que desceu sobre o campo de batalha, os arqueiros noruegueses de Harald Dysteinsson, cautelosamente, começaram a se aproximar, assim como todos os besteiros do lado folkeano que, na realidade, ainda não tinham podido fazer muita coisa. A cavalaria ligeira forsvikiana, que, aparentemente, havia sofrido poucas perdas, entrou em formação nova de luta, em linha de quatro cavaleiros e por esquadrão.
Se o combate continuasse, seria tão sangrento quanto da vez anterior.
Então, o rei Erik desceu do morro, rodeado de cavaleiros forsvi-kianos, e se dirigiu ao centro do campo de batalha. Ao chegar, declarou em voz alta que estariam perdoados todos os que no momento desistissem da luta.
Demorou apenas algumas horas para se chegar a um acordo. Alguns dos parentes de Sverker, encontrados com ele, junto do seu estandarte e ainda vivos, receberiam salvo-conduto real para carregar o seu cadáver e enterrá-lo no cemitério da igreja do mosteiro de Alvastra, pertencente à sua família. O exército dinamarquês recebeu autorização para ficar e enterrar os seus mortos antes de voltar para casa. Estava-se no final do mês de julho, fazia muito calor, e todas essas providências tinham de ser tomadas o mais rápido possível.
A vitória foi grande, mas custou caro. Entre os folkeanos que não puderam evitar de se lançar ao ataque antes da hora certa, quase todos tinham morrido, e dos que morreram, pelo menos a metade morreu pelas flechas disparadas por seus próprios companheiros. Muitos folkeanos morreram em Gestilren, entre eles Magnus Mâneskõld e Folke, o conde. Apenas metade dos sveas que vieram participar da luta pôde voltar para casa.
Mas o reino do rei Erik estava salvo para todo o sempre e ele decidiu que o símbolo heráldico do novo reino agora e para toda a eternidade seria formado pelas coroas erikianas e o leão folkeano.
O convento de Vreta fora construído no cume de um morro no meio da planície da Götaland Oriental com vista livre para todos os lados. Todas as mulheres no convento, a abadessa Cecília, que era irmã de Sverker, as freiras, as noviças, as familiares, e os vinte escudeiros sver-kerianos, mandados para defender a instituição, sabiam que a guerra iria ser decidida em algum desses dias. Vários dos habitantes do convento procuraram por razões que justificassem a subida à torre da igreja ou para qualquer dos muros, a fim de olhar pelos amplos campos em volta onde os grãos maduros que em breve seriam ceifados balançavam até onde a vista alcançava. Helena Sverkersdotter era a mais ansiosa de todas e foi ela que viu primeiro.
Ao longe, se aproximava um grupo de cavaleiros com mantos azuis esvoaçando para trás como se fosse uma vela. Eram dezesseis homens que cavalgavam, com uma velocidade maior do que o habitual, apesar de virem de longe. Isso porque Vreta não era, certamente, uma construção folkeana.
Os vinte escudeiros sverkerianos fizeram aquilo que tinham jurado fazer. Saíram armados contra os dezesseis folkeanos e foram mortos de imediato. Não sobrou ninguém.
Quando a luta terminou, os folkeanos avançaram lentamente na direção do convento, onde todas as portas se fecharam e de cujos muros muitos olhos amedrontados os observavam.
De uma pequena porta lateral saiu então a jovem Helena, correndo para o primeiro dos folkeanos cujo cavalo estava alguns passos na frente dos outros. O cavaleiro sangrava de várias feridas, pois vinha direto de Gestilren. Mas dores ele não sentia.
Quando a jovem Helena, arfando e tropeçando, chegou até ele, o cavaleiro Sune deu a ela um grande manto azul e convidou-a a colocá-lo sobre os ombros.
Então, ele levantou-a do chão e a colocou na sua frente na sela e com isso partiram todos os folkeanos sem muita pressa. O caminho era longo até a fortaleza de Algaräs, pertencente ao cavaleiro Sune.
Foi ali que ela lhe deu quatro filhas. E a história-canção de Sune e Helena e do seqüestro de Vreta ficou para sempre.
A ferida de Arn Magnusson, causada por uma lança que ninguém sabia de onde viera, representava a morte lenta. Se os seus amigos curandeiros Ibrahim e Yussuf ainda estivessem em Forsvik, para onde foi conduzido, talvez ele tivesse uma chance de sobreviver.
Mas ele morreu lentamente e Cecília ficou ao seu lado os dias e as noites que levou para chegar o fim. O mesmo fez Alde.
O que o fazia sofrer na morte não era a dor, porque muito mais dor ele sentira antes com outros ferimentos. Mas lastimava todos os dias de paz e de quietude que estavam por vir, em que ele poderia ficar sentado embaixo de alguma macieira de Cecília e entre suas rosas, vermelhas e brancas, com as mãos dela nas suas. E vendo Alde encontrar a felicidade, do jeito que ela quisesse.
Ela não aceitaria a possibilidade de outra pessoa ou autoridade indicar alguém que ela própria não quisesse como marido.
Nisso, o seu pai e a sua mãe estavam de acordo, até mesmo sem ser necessário falarem sobre o assunto, já que os dois eram pessoas excepcionais que acreditavam fortemente no amor.
Quando o jovem Birger Magnusson chegou para se despedir do seu avô e mestre em tudo, desde a guerra até o poder, chorando por perder em tão pouco tempo o pai e o avô, a conversa girou mais a respeito do futuro do que de lamentações. Arn conseguiu a promessa de Birger de jamais dirigir o país de um lugar tão distante quanto Näs e de construir uma nova cidade no lugar em que o lago Mãlaren deságua no mar Báltico. Para isso, era preciso acima de tudo o apoio dos sveas se fosse o caso de ninguém mais ajudar, o novo reino devia chamar-se Svea rige.
Como Arn continuava falando o nórdico mais como um dinamarquês do que como um gota, aquele nome soou aos ouvidos de Birger Magnusson como se ele tivesse dito Sverige, Suécia.
Birger jurou que em tudo tentaria fazer como o seu avô queria e, no leito de morte, Arn entregou a ele a sua espada, contando-lhe todos os segredos daquela arma e o que os sinais estranhos significavam.
Mil homens acompanharam o respeitado marechal até a sua sepultura em Varnhem. Apenas um deles tinha o direito de entrar com a espada na igreja para a missa de corpo presente, e esse homem era o jovem Birger Magnusson. Isso porque a sua espada era abençoada e era a espada de um templário.
Na igreja de Varnhem, Birger jurou diante de Deus que viveria como fora ensinado a viver pelo seu amado avô, que iria construir uma nova cidade e chamar o novo reino, integrando três províncias, de Sverige, Suécia.
E a História o conhece pelo nome de Birger jarl, o fundador de Estocolmo.
[1] Todas as citações do islamismo neste livro são do Alcorão Sagrado, versão em língua portuguesa diretamente do árabe por Samir El Hayek, editora Otto Pierre Editores. (N. da T.)
Jan Guillou
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















