



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




A visão apocalíptica de um futuro anunciado por um passado distante. Numa área remota da Mongólia, cai um satélite de pesquisa, desencadeando uma busca frenética por sua valiosa carga: o projeto de um físico que estuda a energia negra - e uma imagem chocante de destruição da Costa Leste dos EUA.
Ao Vaticano, chega uma encomenda contendo dois estranhos objetos: uma caveira com gravações em aramaico antigo e um livro encadernado em pele humana. Os testes de DNA revelam que pertenceram ao mesmo corpo: o rei mongol Gengis Khan.
O comandante Gray Pierce e a Força Sigma preparam-se para descobrir uma verdade ligada à decadência do Império Romano e a um mistério que remonta ao início da Cristandade, assim como a uma arma escondida há séculos e que encerra o futuro da humanidade.
NOTAS DO ARQUIVO HISTÓRICO
O que é a verdade? Quando se refere ao passado, é uma pergunta difícil de responder. Winston Churchill disse uma vez que «a história é escrita pelos vencedores». Caso ele tenha razão, quais são então os documentos históricos em que podemos confiar? O que foi assente data de há uns seis mil anos e segue apenas o rasto de alguns breves passos da humanidade neste planeta. E até mesmo esse registo está cheio de lacunas, transformando a história numa tapeçaria esfarrapada e esburacada pelas traças. O mais notável de tudo é que muitos dos grandes mistérios da história desapareceram por esses buracos abaixo e estão à espera de ser redescobertos — incluindo acontecimentos que marcam mudanças essenciais na história, momentos únicos que modificam as civilizações.
Um desses momentos ocorreu no ano 452 da era cristã, quando as hostes devastadoras de Átila, o Huno, invadiram o Norte da Itália, destruindo tudo à sua passagem. Roma encontrava-se praticamente indefesa perante o assalto bárbaro e temia-se que não resistisse. O papa Leão I saiu de Roma a cavalo e encontrou-se com Átila nas margens do lago Garda. Falaram em privado, em segredo, e não existe registo escrito do que se passou. Após o encontro, Átila virou as costas a uma vitória certa e ao saque de Roma pelos seus soldados, e abandonou prontamente a Itália.
Porquê? Que levou Átila a desistir? A História não oferece nenhuma resposta.
Vire esta página para descobrir como estivemos perto da destruição, um momento perdido no tempo em que a civilização ocidental esteve a ponto de ser mortalmente ferida pela ponta de uma espada — uma lâmina conhecida como Espada de Deus.
NOTAS DO ARQUIVO CIENTÍFICO
O que é a realidade? Trata-se simultaneamente da pergunta mais simples e mais difícil, e ao longo dos séculos tem desconcertado filósofos e físicos. Em A República, Platão descreveu o mundo real como nada mais que uma sombra vacilante projetada na parede de uma caverna. Milhares de anos mais tarde, e por estranho que pareça, os cientistas chegaram à mesma conclusão.
A própria página em que isto está escrito (ou o e-reader na sua mão) é feita sobretudo de nada. Olhe mais profundamente para o que parece sólido e descobrirá uma realidade feita de átomos. Separe-os e encontrará um minúsculo núcleo duro de protões e neutrões, rodeado por invólucros vazios com uns quantos eletrões em órbita. Mas até mesmo essas partículas fundamentais podem ser divididas: em quarks, neutrinos, bosões, etc. Aventuremo-nos a maior profundidade e penetraremos num estranho mundo ocupado apenas por vibrantes cordas de energia, as quais talvez sejam a verdadeira fonte do fogo que projeta as sombras de Platão.
A mesma singularidade ocorre quando se olha para fora, para o céu noturno, uma imensidão que ultrapassa o entendimento, um vazio sem limites pontilhado por milhares de milhões de galáxias. E essa vastidão pode ser apenas um universo entre muitos que se expandem infinitamente. E então o nosso próprio universo? A mais recente teoria é que tudo o que experimentamos — da mais pequena corda de energia a vibrar à maior galáxia a girar em volta de um turbilhão de buracos negros que dilaceram a realidade — talvez não seja mais do que um holograma, uma ilusão tridimensional na qual, de facto, talvez estejamos todos a viver numa simulação artificial.
Poderá isso ser possível? Podia Platão ter tido razão: não vemos a realidade à nossa volta e tudo o que sabemos nada mais é do que a sombra vacilante projetada na parede de uma caverna?
Vire esta página (caso seja realmente uma página) e dê conta da assustadora verdade.
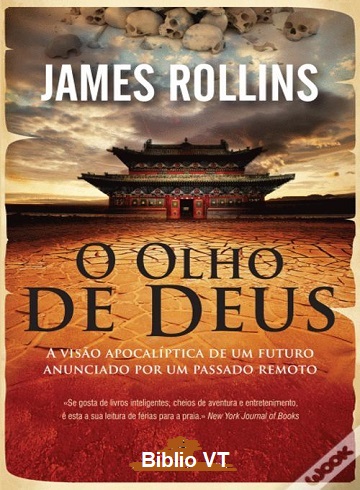
VERÃO, 453 D.C.
REGIÃO CENTRAL DA HUNGRIA
O rei demorou a morrer no seu leito nupcial.
A assassina debruçou-se sobre ele. Filha de um príncipe da Borgonha, era a sétima mulher do rei. Unida a este senhor bárbaro pela intriga, casara-se na noite anterior. O nome dela, Ildiko, significava guerreira feroz no seu idioma.
Porém, não se sentia feroz ali ao lado do moribundo, um tirano sanguinário que tinha ganhado a alcunha Flagelum Dei, o Flagelo de Deus, o qual, segundo rezava a lenda, empunhava a espada do deus cita da guerra.
A simples menção do seu nome — Átila — abria os portões de fortalezas e as cidades cercadas rendiam-se. Mas, agora, nu e a morrer, não era mais temível que qualquer outro homem. Pouco mais alto era do que ela, mas possuía os músculos fortes e os ossos pesados do seu povo nómada. Os olhos — afastados e encovados — lembravam-lhe os de um porco, especialmente quando a fitavam, velados, de noite. Olhos congestionados pelas muitas taças de vinho bebidas durante a festa do casamento.
Era agora a sua vez de olhar para ele, avaliando a sua respiração cada vez mais ofegante e perguntando a si mesma quanto tempo a morte demoraria a levá-lo. Percebia que fora demasiado parca com o veneno que o bispo de Valença lhe tinha dado. Veneno esse cedido pelo arcebispo de Viena com plena aprovação do rei Gondioc da Borgonha. Receando que o tirano sentisse o gosto amargo do veneno, ela percebia agora que lhe administrara uma dose pequena de mais.
Apertou o frasco meio vazio contra o peito, pressentindo que havia gente mais poderosa do que o rei Gondioc envolvida nesta conspiração, e amaldiçoou o facto de tamanho fardo ter vindo parar às suas pequenas mãos. Como podia uma mulher com apenas catorze verões de idade ser responsável pelo destino do mundo?
No entanto, fora prevenida da necessidade desta ação por uma figura envolta num manto que tinha surgido à porta do pai há meia lua. Apesar de já estar prometida ao rei bárbaro, tinham-na levado nessa noite diante desse estranho.
Vira de relance o anel de ouro de cardeal na sua mão e ele tinha-lhe contado então que, há apenas um ano, o exército bárbaro de Átila conquistara Pádua e Milão, cidades do Norte da Itália, massacrando toda a gente — homens, mulheres e crianças. Somente os que conseguiram refugiar-se nas montanhas e nos pântanos do litoral tinham sobrevivido para dar testemunho da sua crueldade.
«Roma estava condenada a cair sob a sua espada ímpia», tinha-lhe explicado o cardeal à beira da lareira fria da sala dos pais. «Sabendo o destino que os esperava quando os bárbaros se aproximassem, Sua Eminência, o papa Leão, montou a cavalo e foi encontrar-se com Átila nas margens do lago Garda. E pela força do seu poder eclesiástico o pontífice conseguiu escorraçar o impiedoso huno.»
Mas Ildiko sabia que não fora somente o poder eclesiástico que afastara os bárbaros — mas também o terror supersticioso do seu rei.
Cheia de medo, lançou um olhar à caixa depositada sobre um estrado aos pés da cama. Era uma oferta, assim como uma ameaça, que recebera da parte do pontífice nesse dia. Não era mais comprida nem mais alta do que o seu antebraço, mas ela sabia que continha no interior o destino do mundo. Receava tocar-lhe ou abri-la — mas fá-lo-ia logo que o marido tivesse realmente morrido.
Só conseguia lidar com um terror de cada vez.
Olhou a medo para a porta fechada da câmara nupcial. Pela janela, o céu a leste empalidecia com a promessa de um novo dia. Os homens do rei em breve entrariam no quarto. O rei tinha de estar morto antes de eles chegarem.
Ficou a ver o sangue borbulhar das narinas do moribundo a cada respiração ofegante. Escutou o arquejar que lhe vinha do peito. O sangue que uma tosse rouca fazia aflorar aos seus lábios escorria pela barbicha pontiaguda e acumulava-se na base da garganta, a qual palpitava a cada batimento cada vez mais débil do coração.
Rezou para que ele morresse — depressa.
Arde nas chamas do Inferno onde pertences...
Como se o Céu tivesse ouvido a sua prece, um último suspiro escapou da garganta ensanguentada de Átila, e depois o peito afundou-se de vez e não tornou a elevar-se.
Ildiko soltou um pequeno gemido de alívio e as lágrimas vieram-lhe aos olhos. A missão estava cumprida. O Flagelo de Deus tinha finalmente desaparecido e já não podia continuar a devastar o mundo. O que já não era sem tempo.
Em casa do seu pai, o cardeal tinha relatado o plano de Átila para voltar a atacar a Itália. Ela ouvira boatos semelhantes na festa de casamento, ameaças gritadas em vozes roucas quanto ao próximo saque de Roma e planos para arrasar a cidade e matar os seus habitantes. A brilhante luz da civilização corria o risco de ser apagada para sempre pelas espadas bárbaras.
Mas graças ao ato sanguinário de Ildiko, o presente estava salvo.
No entanto, ainda não tinha acabado.
O futuro permanecia em perigo.
Levantou-se e aproximou-se do cofre aos pés da cama com mais medo do que quando envenenara a bebida do marido.
A caixa exterior era de ferro preto, de lados planos e tampa com dobradiças.
Com exceção de um par de símbolos gravados, não tinha enfeites. Desconhecia aquela escrita, mas o cardeal explicara-lhe que tinha que ver com o idioma dos distantes antepassados de Átila, tribos nómadas que viviam no Leste longínquo.
Tocou numa das inscrições feita de linhas simples.
— Árvore — murmurou, tentando reunir coragem. O símbolo parecia-se, de certo modo, com uma árvore. Tocou no que estava ao lado — uma segunda árvore — com grande respeito.
E só então teve coragem para pousar os dedos na tampa da caixa e abri-la.
No interior, havia uma segunda caixa de prata brilhante. A inscrição era igualmente grosseira, mas feita com grande determinação.
As linhas simples significavam ordem ou instrução.
Sentindo a pressão do tempo, acalmou os dedos trémulos e levantou a tampa da caixa de prata, revelando uma terceira caixa de ouro no interior. À luz dos archotes, a superfície cintilava como uma substância líquida. O símbolo gravado parecia reunir os caracteres anteriores e formava uma nova palavra O cardeal revelara-lhe o seu significado.
— Proibido — repetiu ela, ofegante.
Abriu a caixa de ouro com muito cuidado. Sabia o que iria encontrar, mas, mesmo assim, os pelos dos braços eriçaram-se ao ver o que era.
Do fundo da caixa, brilhou o osso amarelado de um crânio. Faltava-lhe o maxilar inferior e as órbitas vazias pareciam fitar, sem ver, o céu. Assim como as caixas, os ossos também estavam ornamentados de inscrições. Linhas de escrita desciam em espiral do alto do crânio. O idioma não era o mesmo que figurava nas tampas. Segundo o que o cardeal lhe dissera, tratava-se da antiga escrita dos judeus. E instruíra-a quanto ao objetivo dessa relíquia.
Era um objeto antigo usado nos rituais judeus, uma invocação a Deus a implorar clemência e salvação.
O papa Leão tinha oferecido este tesouro a Átila suplicando-lhe que Roma fosse poupada. E além do mais avisara-o de que este poderoso talismã era apenas um dos muitos guardados em Roma e protegidos pela ira divina. Quem se atrevesse a destruir as suas muralhas estava condenado a morrer. Para reforçar as suas palavras, o papa também tinha contado que o rei dos Visigodos, Alarico I, saqueara Roma quarenta anos antes e morrera ao sair da cidade.
Ciente desta maldição, Átila tinha dado ouvidos às suas palavras e fugido de Itália, levando consigo este precioso tesouro. Mas, como com todas as coisas, o tempo tinha acabado por atenuar tais receios e alimentado o desejo do Huno de voltar a cercar mais uma vez Roma para pôr à prova a lenda da ira divina.
Ildiko fitou o corpo prostrado do marido.
Tudo levava a crer que ele se enganara.
Ultimamente, nem mesmo os poderosos conseguiam escapar à morte.
Sabendo o que tinha de fazer, pegou na caveira. Os seus olhos voltaram a pousar-se nas garatujas no centro da espiral. A invocação suplicava proteção contra o que lá se encontrava escrito.
A data do fim do mundo.
A chave desse destino estava por baixo da caveira — oculta por ferro, prata, ouro e osso. O seu significado só viera a lume há uma lua, após a chegada às portas de Roma de um padre nestoriano vindo da Pérsia. Tinha ouvido falar da oferta, proveniente dos cofres da Igreja, a Átila — oferta feita a Roma no passado pelo próprio Nestório, patriarca de Constantinopla. O padre contara a verdade ao papa acerca das caixas e da caveira, como tinham vindo de muito mais longe do que Constantinopla para serem guardadas na Cidade Eterna.
E, no fim, tinha informado o papa quanto ao verdadeiro tesouro nas caixas e dissera-lhe o nome do homem a quem outrora pertencera este crânio.
Os dedos de Ildiko voltaram a tocar na relíquia e tornaram a estremecer. As órbitas vazias pareciam fitá-la, avaliando o seu valor. Se o padre nestoriano falara a verdade, eram os mesmos olhos que tinham outrora visto em vida o seu Senhor, Jesus Cristo.
Quando ia pegar na relíquia sagrada, hesitou — e a sua relutância foi punida por uma pancada na porta. Uma voz gutural chamou. Ela não compreendia a língua dos hunos, mas sabia que os homens de Átila, não ouvindo uma resposta do seu rei, em breve entrariam.
Tinha demorado tempo de mais.
Levantou apressadamente a caveira para ver o que estava por baixo, mas não encontrou nada. Havia apenas uma marca dourada no fundo da caixa com a forma de uma cruz que lá estivera. Dizia-se que era uma relíquia que tinha caído dos céus.
Mas agora tinha desaparecido. Fora roubada.
Ildiko fitou o marido morto, homem conhecido tanto pelas subtis estratégias como pela brutalidade. Também se dizia que ele tinha ouvidos por baixo de todas as mesas. Estaria o rei dos hunos a par dos segredos revelados pelo padre nestoriano em Roma? Teria sido ele quem tirara a cruz sagrada e a escondera?
Era essa a razão por que, de repente, tinha voltado a confiar que conquistaria e saquearia Roma?
Os gritos aumentaram de volume e as pancadas na porta tornaram-se mais insistentes.
Desesperada, Ildiko voltou a pousar a caveira no seu lugar e fechou as caixas.
E só então se deixou cair de joelhos e tapou o rosto. O seu corpo foi sacudido por soluços quando a porta foi arrombada atrás dela.
As lágrimas engasgavam-na como o sangue engasgara o marido.
Homens entraram no quarto e os seus gritos tornaram-se mais estridentes ao verem o rei no seu leito de morte. Seguiram-se as lamentações da praxe.
Mas nenhum deles ousou tocar-lhe enquanto ela se balançava, de joelhos, ao lado da cama. Julgavam que as lágrimas eram pelo marido ali estendido, pelo rei morto, mas enganavam-se.
Ildiko chorava pelo mundo.
Um mundo agora condenado a arder.
PRESENTE
17 DE NOVEMBRO, 16H33, CET
ROMA, ITÁLIA
Parecia que até mesmo as estrelas estavam alinhadas contra ele.
Agasalhado por causa do frio cortante do inverno, monsenhor Vigor Verona atravessou as sombras da Piazza della Pilotta. Apesar do pesado sobretudo e da espessa camisola de lã, tiritava — não de frio, mas devido à crescente apreensão que sentia quando olhava para a cidade.
Um flamejante cometa brilhou no céu crepuscular, pairando por cima da cúpula de São Pedro, o ponto mais alto de toda a Roma. O visitante celeste — o mais brilhante em séculos — ultrapassava o brilho da Lua e projetava uma longa cauda que cintilava por entre as estrelas. Tais espetáculos eram com frequência historicamente vistos como presságios funestos.
Rezou para que tal não fosse o caso.
Apertou com mais força o pacote nos braços. Tinha-o voltado a embrulhar desajeitadamente no papel original, mas o lugar para onde se dirigia não ficava longe. A imponente fachada da Pontifícia Universidade Gregoriana erguia-se diante dele, flanqueada por alas laterais e edifícios exteriores. Embora Vigor ainda fosse membro do Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã, apenas dava de vez em quando aulas como professor convidado. Estava agora ao serviço da Santa Sé como funcionário superior dos Arquivos Secretos do Vaticano. Mas o cargo que exercia agora não lhe fora atribuído por ser professor ou funcionário, mas por intermédio de um amigo.
O presente de um colega morto.
Chegou à porta principal da universidade e atravessou o átrio de mármore branco. Ainda tinha direito a um gabinete. E vinha aqui amiúde para confirmar dados do vasto depósito da universidade, o qual, rivalizando com a Biblioteca Nacional da cidade, armazenava mais de um milhão de volumes, incluindo uma grande coleção de textos e edições raras, na torre adjacente de seis andares.
Mas nada do que existia aqui, ou nos arquivos do Vaticano, se comparava com o livro que Vigor trazia — nem com o que se encontrava no embrulho. E
era por esse motivo que desejava aconselhar-se junto da única pessoa em quem realmente confiava em Roma.
Ao subir a escada e ao percorrer os corredores estreitos, os seus joelhos começaram a queixar-se. Na casa dos sessenta, décadas de trabalho arqueológico no terreno ainda o mantinham em forma, mas, nos últimos anos, tinha passado demasiado tempo enterrado em arquivos, sentado a secretárias e no meio de pilhas de livros, acorrentado por responsabilidades.
Estarei apto a cumprir esta tarefa, meu Deus?
Tinha de estar.
Chegou finalmente à ala da faculdade e avistou uma figura familiar encostada à porta do seu gabinete. A sobrinha chegara lá primeiro. Devia ter vindo diretamente do trabalho. Ainda vestia a farda azul-escura dos carabinieri, debruada a escarlate e com dragonas prateadas nos ombros. Ainda não tinha trinta anos e já era tenente do Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, a polícia da herança cultural que supervisionava o tráfico de arte e relíquias roubadas.
Ao vê-la, sentiu-se orgulhoso. Tinha-a chamado tanto por gostar de a ver como por ela ser perita nesses assuntos. Não confiava em mais ninguém.
— Tio Vigor. — Rachel deu-lhe um rápido abraço e depois recuou, repondo uma madeixa de cabelo escuro atrás da orelha com os dedos e observando-o com aqueles penetrantes olhos cor de caramelo. — Porquê tanta urgência?
Ele olhou para um lado e para o outro do corredor, mas a esta hora, num domingo, não se via ninguém e todos os gabinetes estavam às escuras.
— Entra que eu já te explico.
Vigor abriu a porta e fê-la entrar. Apesar das suas elevadas funções, o gabinete pouco maior era do que uma cela atulhada de caixas a transbordar de livros e pilhas de revistas. A pequena secretária estava encostada à parede por baixo de uma janela tão estreita como a seteira de um castelo. A Lua há pouco nascida projetava um raio prateado sobre todo aquele caos.
Só depois de ambos entrarem e ele fechar a porta se atreveu a acender a luz.
Mais tranquilo e reconfortado pelo ambiente familiar, soltou um pequeno suspiro de alívio.
— Ajuda-me a arranjar espaço na secretária.
Uma vez isto concluído, Vigor pousou o livro e desfez o embrulho de papel castanho, revelando uma pequena caixa de madeira.
— Isto foi-me enviado hoje só com o nome do remetente, mas sem morada.
Mostrou-lhe o que estava escrito: — Padre Josip Tarasco — leu Rachel em voz alta. — Deveria saber de quem se trata?
— Não, não deverias. — Fitou-a. — Foi declarado morto há uns dez anos.
Ela endireitou-se e franziu a testa.
— Mas o pacote está demasiado em boas condições para se ter perdido nos correios durante tanto tempo. — Tornou a virar aquele seu olhar perspicaz na direção do tio. — Pode alguém ter forjado esse nome para te pregar uma partida de mau gosto?
— Não sei porquê. Julgo até que foi por isso que o remetente endereçou o embrulho à mão. Para eu verificar que veio realmente do padre Tarasco. Éramos bons amigos. Comparei a escrita no pacote com a de cartas antigas que guardei.
A letra é a mesma.
— Então, se ele ainda está vivo, porque foi declarado morto?
Vigor suspirou.
— O padre Tarasco desapareceu no decorrer de uma viagem de investigação à Hungria. Estava a preparar um estudo pormenorizado sobre a caça às bruxas nesse país no início do século dezoito.
— Caça às bruxas?
Vigor assentiu com a cabeça.
— Nessa época, a Hungria foi assolada por um período de seca que durou dez anos, acompanhado por fome e peste, o que motivou a procura de um bode expiatório, alguém a quem culpar. Mais de quatrocentas mulheres foram acusadas de bruxaria e mortas ao longo de cinco anos.
— E o que aconteceu ao teu amigo?
— Tens de perceber que, quando o Josip partiu, a Hungria só há pouco tempo se libertara do domínio soviético. A situação ainda era volátil e era perigoso fazer demasiadas perguntas, sobretudo em áreas rurais. A última vez que ele contactou comigo foi por uma mensagem que deixou no meu atendedor de chamadas. Dizia que estava a seguir a pista de um caso inquietante. Um grupo de seis mulheres e seis homens queimados na fogueira no Sul do país.
Parecia assustado e entusiasmado. Depois, nunca mais ouvi falar dele. A polícia e a Interpol investigaram o seu desaparecimento durante um ano, mas, após quatro anos de silêncio, foi finalmente declarado morto.
— Então, deve ter-se escondido. Mas porquê? E, mais importante, porquê reaparecer dez anos mais tarde? Porquê agora?
De costas viradas para a sobrinha, Vigor disfarçou um sorriso de orgulho pela capacidade de Rachel de captar o essencial tão depressa.
— Pelo que ele enviou, a resposta à tua última pergunta parece evidente — disse ele. — Vem cá ver.
Vigor respirou fundo e abriu a tampa da caixa. Retirou cuidadosamente o primeiro dos dois objetos guardados no pacote e pousou-o em cima da secretária à luz do luar.
Rachel recuou involuntariamente.
— Isso é uma caveira? Uma caveira humana?
— É, sim.
Recompondo-se da surpresa inicial, ela deu um passo em frente. Reparou rapidamente na inscrição garatujada no osso do crânio.
— Trata-se de alguma escrita? — indagou.
— Aramaico judeu. Creio que esta relíquia constitui um exemplo da antiga magia talmúdica praticada pelos judeus da Babilónia.
— Magia? Como feitiçaria?
— De certo modo. Tais feitiços protegiam dos demónios ou eram pedidos de ajuda. Ao longo dos anos, os arqueólogos desenterraram milhares desses artefactos... sobretudo objetos relacionados com rituais mágicos, mas também algumas caveiras iguais a esta. O Museu de Berlim possui duas dessas relíquias.
E outras encontram-se nas mãos de particulares.
— E esta aqui?... Disseste que o padre Tarasco se interessava por bruxas e eu depreendo que o seu interesse incluía objetos mágicos.
— Talvez. Mas não creio que este seja autêntico. A prática da magia talmúdica começou no século terceiro e terminou no sétimo. — Vigor agitou uma mão sobre a caveira como se estivesse a lançar o seu próprio feitiço. — Desconfio que este artefacto não é assim tão antigo. Talvez do século dezoito ou dezanove no melhor dos casos. Enviei um dos dentes para ser examinado pelo laboratório da universidade a fim de confirmar os meus cálculos.
Ela assentiu lentamente com a cabeça sem dizer palavra.
— Mas também examinei esta escrita aqui — prosseguiu ele. — Estou familiarizado com esta forma de aramaico e encontrei muitos erros flagrantes na transcrição... diacríticos invertidos e acentos errados ou omissos... como se alguém que não dominasse bem esta língua antiga tivesse copiado mal a transcrição original.
— Quer dizer, então, que a caveira é falsa?
— Para dizer a verdade, creio que não fosse intencionalmente forjada. Julgo que foi feita mais com a intenção de preservar do que de enganar. Alguém receou que o conhecimento aqui contido se perdesse e, por conseguinte, fez várias cópias para preservar algo antigo.
— Que género de conhecimento?
— Já falaremos disso.
Vigor tirou o segundo objeto da caixa, pousando-o depois ao lado da caveira. Era um livro antigo, da largura da mão esticada e duas vezes mais comprido. Estava encadernado em cabedal e tinha as páginas presas de modo rudimentar por cordões grossos.
— Isto é um exemplo de bibliopagia antropodérmica — explicou.
Rachel fez uma careta.
— Que significa...?
— O livro foi encadernado com pele humana e as páginas cosidas com tendões também humanos.
Rachel recuou e, desta vez, não voltou a aproximar-se da secretária.
— Como sabes?
— Não sei. Mas enviei uma amostra do cabedal para o mesmo laboratório onde esteve a caveira para verificar a idade e o ADN. — Vigor pegou no macabro volume. — E estou certo de que tenho razão. Examinei isto com um microscópio de dissecação. Os poros humanos são distintamente diferentes em tamanho e até mesmo em forma dos que se encontram na pele de porco ou de vitelo. Se olhares mais perto para o meio da capa...
Apontou com a unha para o que parecia ser uma ruga.
— Com a ajuda de uma boa ampliação ainda se podem ver os folículos das pestanas.
Rachel empalideceu.
— Pestanas?
— Na capa está um olho humano cosido com os fios mais finos de um tendão.
— Então esse livro é sobre o quê? — perguntou a sobrinha, engolindo em seco. — É algum texto de ciências ocultas?
— Também julguei a mesma coisa, sobretudo tomando em conta o interesse do Josip pelas bruxas húngaras. Mas não. Não é nenhum manuscrito diabólico.
Embora em alguns círculos o texto possa ser considerado blasfemo.
Vigor abriu o volume com mil cuidados e mostrou várias páginas escritas em latim.
— Trata-se simplesmente de um livro gnóstico da Bíblia.
Versada em latim, Rachel inclinou a cabeça e traduziu as palavras de abertura: «Estas são as palavras secretas que Jesus em vida disse...»
Reconhecendo essas palavras, lançou um olhar ao tio.
— É o Evangelho de São Tomé.
Ele confirmou com um movimento da cabeça.
— O santo que duvidou da ressurreição de Cristo.
— Mas porque está encadernado com pele humana? — perguntou Rachel com ar enojado. — Porque te teria enviado o teu colega desaparecido coisas tão macabras?
— Como um aviso.
— Um aviso contra quê?
Vigor voltou a concentrar-se na caveira.
— A inscrição mágica que aqui vemos suplica a Deus que não deixe o mundo acabar.
— Apesar de eu certamente apreciar tal súplica, que...?
Vigor interrompeu a sobrinha.
— A data prevista para esse acontecimento apocalíptico figura no alto do crânio, mesmo no meio da inscrição em espiral. Converti o ano do antigo calendário judaico para o atual... Foi por essa razão que o padre Josip me enviou isto.
Rachel esperou que o tio explicasse.
Vigor lançou um olhar pela janela para o cometa, cujo brilho envergonhava a Lua, a cintilar no céu noturno. O presságio da catástrofe que anunciava provocou-lhe um arrepio.
— O fim do mundo terá lugar dentro de... quatro dias.
PRIMEIRA PARTE
DESTRUIR & QUEIMAR
1
17 DE NOVEMBRO, 07H45, PST
LOS ANGELES, BASE DA FORÇA AÉREA EL SEGUNDO, CALIFÓRNIA
O pânico já tinha começado.
Da cabina de observação por cima da sala de comando, Painter Crowe percebeu que alguma coisa se passava quando a ociosa conversa entre os técnicos cessou de repente. Olhares nervosos espalharam-se pela cadeia de comando e pelas instalações do Space and Missiles Systems Center. Àquela hora matutina, apenas as patentes mais altas da base se encontravam presentes, juntamente com alguns chefes das divisões de pesquisa do Departamento de Defesa.
O andar por baixo deles parecia uma versão reduzida da sala de comando da NASA. Filas de terminais de computador e de monitores de vigilância de satélites estavam ligadas a três gigantescos ecrãs LCD na parede do fundo. O
ecrã do meio mostrava um mapa do mundo atravessado por linhas brilhantes que seguiam a trajetória de dois satélites militares e o itinerário do cometa.
Os outros dois ecrãs exibiam imagens ao vivo das câmaras dos satélites. No da esquerda via-se a curva da Terra a revolver lentamente no espaço e, no da direita, o brilho da cauda do cometa enchia o ecrã, obscurecendo as estrelas.
— Passa-se qualquer coisa de errado — sussurrou Painter.
— O que quer dizer com isso? — O seu superior encontrava-se ao lado dele no alto da cabina de comando.
O general Gregory Metcalf era chefe da DARPA, a agência de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa. Metcalf estava fardado a rigor.
Tinha uns cinquenta e tal anos, era afro-americano e formado em West Point.
Em contraste, Painter estava simplesmente de fato preto e, realçando o seu estilo descontraído, calçava botas de cowboy. Eram uma prenda de Linda, que se encontrava em viagem de trabalho no Novo México. Meio índio americano, ele deveria provavelmente hesitar em usar semelhantes botas, mas gostava delas, sobretudo porque lhe lembravam a namorada ausente há já um mês.
— Algo assustou o agente de apoio operacional — disse Painter, apontando para um funcionário sentado na segunda fila dos terminais.
O especialista-chefe da missão foi ter com o colega.
Metcalf fez um gesto desdenhoso.
— Hão de resolver o assunto. É o trabalho deles. Sabem o que estão a fazer.
E o general voltou prontamente à sua conversa com o comandante da 50.ª
Esquadrilha Espacial de Colorado Springs.
Ainda inquieto, Painter continuou a seguir atentamente a crescente ansiedade que reinava no andar de baixo. Fora convidado para observar esta missão militar de emergência não apenas por ser o diretor da Sigma, a qual operava sob a égide da DARPA, mas porque tinha criado uma peça que se encontrava a bordo de um dos dois satélites militares.
Os dois satélites — IoG-1 e IoG-2 — tinham sido postos em órbita há quatro meses. A sigla que referia os satélites — IoG — significava interpolation of the geodetic effect (interpolação do efeito geodésico), nome originalmente criado pelo físico militar que concebera este projeto de estudo gravitacional. A sua intenção tinha sido fazer uma análise completa da curva espaço-tempo à volta da Terra para dar apoio à trajetória dos mísseis e dos satélites.
Embora se tratasse de um empreendimento ambicioso, a descoberta do cometa por um par de astrónomos amadores há dois anos alterou rapidamente o objetivo do projeto — em particular após ter sido assinalado um fenómeno anormal no espaço.
Painter lançou um olhar à sua esquerda ao reparar na figura esbelta da investigadora do Observatório Astrofísico do Smithsonian. Com vinte e dois anos, a doutora Jada Shaw era alta e tinha o físico esguio de corredora. A pele era cor de café e o cabelo preto cortado curto realçava a longa curva do pescoço.
Vestida com uma bata branca de laboratório e calças de ganga, estava de braços cruzados a roer nervosamente a unha do polegar.
Há dezassete meses, a jovem astrofísica tinha sido bruscamente retirada de Harvard e admitida nesta operação militar de emergência. Apesar de fazer o possível para não o demonstrar, ainda se sentia desambientada.
O que era uma pena. Não havia motivo nenhum para se sentir nervosa. O
seu trabalho já tinha ganhado reconhecimento internacional. Utilizando equações quânticas — cálculos muito acima do nível intelectual de Painter —, criara uma teoria invulgar acerca da energia negra, a misteriosa força que gerou três quartos do universo e era responsável pela sua crescente expansão cósmica.
Como prova adicional das suas capacidades, tinha sido a única física a detetar pequenas anomalias na aproximação deste visitante celestial que agora se avistava — um cometa designado IKON.
Há ano e meio, a doutora Shaw tinha conseguido fazer uma conexão digital com a nova Câmara de Energia Negra de 570 megapíxeis, construída pelo Fermilab nos Estados Unidos e instalada no alto de uma montanha no Chile, para seguir a passagem do cometa. Foi lá que descobriu essas anomalias, as quais, segundo acreditava, talvez constituíssem a prova de que o cometa estava a largar, ou a perturbar, energia negra na sua esteira.
O seu trabalho foi rapidamente encoberto por motivos de segurança nacional. Uma nova fonte de energia como esta tinha tremendo potencial — tanto económico como militar.
E, desde esse momento, o objetivo do projeto ultrassecreto IoG passou a ser estudar exclusivamente o potencial de energia negra do cometa. O plano era levar o IoG-2 a cruzar-se com a cauda do cometa para tentar absorver essa energia anómala detetada pela doutora Shaw e transmiti-la para o satélite IoG-1
em órbita à volta da Terra.
Por sorte, os engenheiros tinham apenas de modificar ligeiramente o satélite da missão anterior para levar a cabo esta tarefa. Parte da sua configuração original incluía uma esfera perfeita de quartzo inserida no interior. A ideia era pôr essa esfera a girar logo que o satélite estivesse em órbita, a fim de criar um efeito giroscópico que poderia ser usado para cartografar a curva espaço-tempo à volta da massa da Terra. Se a experiência fosse bem-sucedida, o feixe de energia negra de um engenho espacial para o outro deveria provocar uma ínfima perturbação nessa curvatura de espaço-tempo.
Era uma experiência ousada. Até mesmo a sigla IoG era agora denominada por brincadeira Olho de Deus. Painter apreciava esta nova alcunha e imaginava essa esfera perfeita a girar enquanto esperava para dar uma espreitadela aos mistérios do universo.
— O satélite vai atravessar a cauda do cometa em dez ! — preveniu o especialista-chefe.
Quando a contagem final começou, os olhos da doutora Shaw permaneceram fixos no fluxo de dados que surgiu no ecrã gigante.
— Espero que se tenha enganado, diretor Crowe — disse. — Quanto a haver um erro nisto... Agora que estamos a extrair energia ligada ao nascimento do universo, não é boa altura.
De qualquer modo, pensou Painter, já não se podia voltar atrás.
07h55
Ao longo de seis longos minutos, a rota do IoG-2 foi-se lentamente desvanecendo no meio da nuvem de poeira e gás ionizado. O ecrã da direita — onde passavam imagens ao vivo da câmara do satélite — encontrava-se em branco. Estavam agora a navegar às cegas, totalmente dependentes de dados telemétricos.
Painter tentava assimilar tudo ao mesmo tempo, captar a excitação na sala e apreender o significado histórico daquele momento.
— Estou a registar um pico de energia no IoG-2! — exclamou o técnico do EECOM, gestor das questões elétricas, ambientais e de consumíveis, do seu posto.
Ouviram-se aplausos tímidos, mas a pressão do momento rapidamente pôs cobro a manifestações de regozijo. A leitura podia estar errada.
Todos os olhos se viraram para outro terminal onde se encontrava o engenheiro espacial que supervisionava o IoG-1. Este abanou a cabeça. Parecia não haver nenhuma prova de que a energia captada pelo primeiro satélite tivesse sido transmitida para o que estava em órbita à volta da Terra — mas, de repente, o engenheiro ergueu-se precipitadamente.
— Apanhei qualquer coisa! — gritou.
O controlador do Space and Missiles Systems Center juntou-se apressadamente a ele.
Enquanto toda a gente aguardava confirmação, a doutora Shaw apontou para o mapa do mundo e os dados de telemetria.
— Até agora parece prometedor.
Se você assim o diz...
Painter não entendia os dados que chegavam cada vez mais depressa. Mais uns minutos de tensão, e o fluxo de dados era indistinto.
O EECOM pôs-se de pé. Avisos e mensagens de erro desenrolavam-se no seu ecrã enquanto ele continuava a monitorizar a passagem do IoG-2 pela cauda do cometa.
— Os níveis de energia não aparecem no mapa. O que quer que eu faça?
— Desligue! — ordenou o técnico.
Ainda de pé, o técnico pôs-se a premir rapidamente o teclado.
— Não consigo! O comando de navegação do satélite não obedece.
O enorme ecrã à direita ficou subitamente às escuras.
— Também perdi a imagem da câmara — acrescentou o técnico.
Painter imaginou o IoG-2 a navegar no espaço, um pedaço de metal escuro e frio de lixo espacial.
O engenheiro encarregado do IoG-1 fez sinal ao controlador.
— Tenho novos resultados. É melhor você ver isto.
A doutora Shaw encostou-se ao corrimão, manifestando claramente desejar ver o que se passava. Painter e a maior parte das altas patentes juntaram-se a ela.
— O efeito geodésico está a alterar-se — explicou o engenheiro, apontando para um monitor. — Zero vírgula dois por cento de desvio.
— Isso não deveria ser possível — resmungou a doutora Shaw, dirigindo-se a Painter ao seu lado. — A não ser que a curva espaço-tempo à volta da Terra começasse a ondular.
— E olhem! — prosseguiu o engenheiro. — O ímpeto giroscópico do Olho de Deus está a ficar mais forte, muito mais forte do que as estimativas antes do lançamento. Estou até a receber um sinal de propulsão!
A doutora Shaw agarrou-se ao corrimão com mais força, dando a impressão de estar pronta a saltar lá para baixo.
— Isso não pode acontecer sem uma fonte externa fornecer energia ao Olho de Deus.
Painter dava conta de que ela queria chamar a isso energia negra, mas a astrofísica conteve-se e não tirou quaisquer conclusões prematuras.
Ouviu-se outra voz — desta vez de um lugar marcado controlo.
— Estamos a perder a estabilidade orbital do IoG-1!
Painter virou-se para o ecrã central onde se via o mapa do mundo e as trajetórias dos satélites. A onda sinusoidal da trajetória do IoG-1 estava visivelmente a tornar-se mais plana.
— As forças giroscópicas no interior do satélite devem estar a empurrá-lo para fora da órbita — explicou a doutora Shaw em voz simultaneamente assustada e entusiasmada.
O perfil da Terra aumentava, enchendo o ecrã à esquerda e eclipsando o vazio do espaço. O satélite caía da órbita, tombando lentamente no poço de gravidade de onde viera.
A transmissão perdeu a nitidez quando o satélite entrou na troposfera e sombras fantasmagóricas duplicaram e triplicaram as imagens.
Viu-se passarem continentes, espirais de nuvens e as brilhantes extensões azuis dos oceanos.
E, pouco depois, o ecrã apagou-se como os demais.
O silêncio instalou-se pesadamente na sala.
No mapa do mundo, a rota do satélite desfiou-se em diferentes direções quando o computador da missão tentou extrapolar diferentes trajetórias de colisão tomando em consideração uma série de variáveis: a agitação da troposfera, o ângulo de entrada na atmosfera e a velocidade a que o aparelho se desfez.
— Parece que os destroços irão cair na fronteira leste da Mongólia! — disse o especialista de telemetria. — Talvez até cheguem à China.
— Podem apostar que Pequim há de aproveitar-se deles — murmurou o comandante da 50.ª Esquadrilha Espacial.
Painter concordou. A China não perderia nenhum lixo espacial que lhe caísse em cima.
O general Metcalf lançou um olhar duro a Painter e este compreendeu aquele olhar. A tecnologia militar a bordo do satélite era confidencial e não podia cair em mãos estrangeiras.
O ecrã da esquerda tremeluziu por uma fração de segundo e, a seguir, voltou a apagar-se — o último suspiro do satélite moribundo.
— O pássaro morreu! — declarou finalmente o controlador. — Todas as transmissões cessaram. Agora, é apenas um calhau a cair.
O fluxo de dados telemétricos sobre o mapa do mundo abrandou — e depois parou completamente.
A mão da doutora Shaw crispou-se de súbito no antebraço de Painter.
— Têm de mostrar a última imagem — disse. — Antes de o satélite deixar de funcionar.
Devia ter reparado em qualquer anomalia nos dados, algo que a assustara.
Metcalf também a ouviu.
Painter fitou-o.
— Então mande lá que façam isso.
A ordem passou pela cadeia de comando até ao andar de baixo e os engenheiros e os técnicos meteram mãos à obra. Após vários e longos minutos passados a redigitalizar, afinar e limpar o fugaz brilho cintilante emitido, a imagem final desabrochou no grande ecrã.
Suspiros ecoaram na sala.
— Se até mesmo um parafuso desse satélite cair onde quer que seja e for encontrado... — sussurrou Metcalf ao ouvido de Painter. — Nunca poderá chegar às mãos dos nossos inimigos.
Painter entendeu e nem sequer discutiu.
— Já tenho operacionais no terreno.
Metcalf fitou-o com ar interrogativo, como a inquirir em silêncio como era isso possível.
Pura sorte.
Tinha agora de a aproveitar e enviar imediatamente uma equipa para recuperar o que lá caísse. Mas, de momento, limitava-se a olhar boquiaberto para o ecrã sem conseguir afastar os olhos.
Via-se uma fotografia da Costa Leste dos Estados Unidos tirada do satélite quando este traçava um rasto luminoso no céu. Era suficientemente pormenorizada para distinguir as principais cidades do litoral.
Boston, Nova Iorque, Washington, D.C.
Todas essas cidades jaziam em ruínas fumegantes.
2
17 DE NOVEMBRO, 23H58, CST
MACAU, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Tinham atravessado meio mundo para caçar um fantasma.
O comandante Gray Pierce desembarcou com a multidão da meia-noite e seguiu-a até ao terminal. O catamarã de alta velocidade fazia a viagem de Hong Kong à península de Macau em pouco mais de uma hora. Esticou as costas para se livrar de uma dor muscular enquanto esperava no edifício cheio de gente para mostrar o passaporte.
As pessoas iam a Macau para celebrar um Festival da Lanterna de Água especial em honra do cometa no céu. Esta noite, um grande grupo ia a caminho para fazer oferendas aos espíritos dos mortos e lançar lanternas nos lagos e nos rios. Centenas de luzes flutuavam na água à volta do terminal, como flores luminosas.
À sua frente, na bicha, um velho descarnado segurava uma gaiola vermelha com um ganso vivo lá dentro. Ambos pareciam igualmente rabugentos, o que combinava lindamente com o estado de espírito de Gray após a viagem de dezassete horas até este lugar.
— Porque está aquele pato sempre a olhar para mim? — perguntou Kowalski.
— Não julgo que seja somente o pato — respondeu Gray.
O grandalhão, de calças de ganga e um casacão comprido, era uma cabeça mais alto do que Gray, o que queria dizer que ultrapassava em tamanho todos os que se encontravam ali. Várias pessoas tiravam fotografias do gigante americano, como se algum Godzilla de rosto duro e cabelo cortado à escovinha se tivesse infiltrado no meio deles.
Gray virou-se para a outra pessoa que os acompanhava.
— Não é muito provável que o nosso contacto aqui nos dê alguma informação. Sabes isso, não sabes?
Seichan encolheu os ombros, parecendo imperturbável, mas pela pequena ruga entre as sobrancelhas Gray percebeu que ela estava tensa. Tinham feito esta viagem para interrogar pessoalmente aquele homem. O encontro era a única esperança que restava a Seichan de descobrir o que acontecera à sua mãe, desaparecida há vinte e dois anos. Tinha sido levada de casa no Vietname por homens armados, deixando uma filha de nove anos. Seichan pensava que a mãe morrera há muito tempo — mas uma nova informação vinda a lume há uns quatro meses sugeria que ainda pudesse estar viva. Tinham sido necessários todos os recursos e contactos da Sigma no meio da espionagem para chegarem até ali.
Muito possivelmente era um beco sem saída, mas tinham de continuar.
A bicha começou por fim a avançar e Seichan aproximou-se do entediado fiscal da alfândega. Ela vestia calças de ganga pretas, botas de caminhada e uma blusa larga de seda cor de esmeralda juntamente com um casaco de caxemira para a proteger da frescura da noite.
Pelo menos passava despercebida aqui, onde noventa e nove por cento das pessoas eram de ascendência asiática. No caso dela, a mistura de sangue europeu dava-lhe uma aparência ligeiramente mais exótica. As maçãs do rosto salientes pareciam esculpidas em mármore claro e os olhos amendoados cintilavam como jade polido. A única característica doce nela era a cascata de cabelo preto-azeviche.
O funcionário não deixou escapar nenhum desses pormenores.
O homem gordo endireitou-se, a barriga quase a rebentar os botões da farda, quando ela surgiu diante dele. Ela trocou um olhar com ele, movendo-se com uma elegância leonina que manifestava simultaneamente poder e perigo.
Entregou-lhe o passaporte. Os seus documentos eram falsos, assim como os de Gray e Kowalski, mas já tinham passado sem problema pelo posto de fiscalização mais rigoroso do Aeroporto de Hong Kong à sua chegada de Washington.
Nenhum desejava que a sua verdadeira identidade fosse conhecida pelo governo chinês. Gray e Kowalski eram operacionais da Sigma, uma secção da DARMA constituída por antigos militares das Forças Especiais que tinham sido treinados em várias disciplinas científicas para fazer frente às ameaças globais.
Até ser recrutada pela Sigma como aliada pela força das circunstâncias, Seichan fora assassina a soldo de uma organização criminosa internacional. Agora, não pertencia oficialmente à Sigma, mas trabalhava na sombra.
Pelo menos, por enquanto.
Depois de passarem pela alfândega, Kowalski chamou um táxi. Enquanto aguardavam que este abrisse caminho por entre a multidão para encostar ao passeio, Gray contemplou a península de Macau e as suas ilhas ligadas umas às outras. As luzes de néon, juntamente com o barulho de música e o clamor surdo da humanidade, atraíam-no.
Macau, antiga colónia portuguesa, tinha-se tornado a Cidade do Pecado do Sul da China, um centro de jogo cujos lucros já ultrapassavam os de Las Vegas.
A poucos passos do terminal, erguia-se a torre dourada de um dos maiores casinos da cidade, o Sands Macau. Dizia-se que o edifício de trezentos milhões de dólares tinha recuperado o custo da sua construção em menos de um ano.
Outros casinos continuavam regularmente a aparecer. Perfaziam um total de trinta e três numa cidade que tinha um sexto da área de Washington, D.C.
Mas o apelo de Macau não era somente o jogo. Os prazeres da cidade — alguns legais, mas não a maioria — ultrapassavam os das máquinas de moedas e das mesas de póquer.
O que acontece em Macau, fica em Macau.
E Gray tencionava manter isso assim. Observava a multidão quando o táxi parou diante deles. Alguém tentou antecipar-se e entrar no veículo, mas Gray empurrou-o. Kowalski sentou-se à frente enquanto Gray e Seichan ocuparam o banco de trás.
Inclinando-se para a frente, ela dirigiu-se ao motorista em cantonês.
O táxi arrancou rapidamente para o seu destino.
Seichan recostou-se no assento e devolveu a carteira a Gray.
Ele fitou-a, surpreendido.
— Como é que...?
— Foste roubado por um carteirista. Tens de ter mais cuidado...
Kowalski soltou uma grande gargalhada.
Gray esticou o pescoço, lembrando-se do homem que o empurrara para entrar no táxi. Fora um truque para o distrair enquanto outro indivíduo lhe tirava a carteira, roubando também a sua dignidade. Por sorte, Seichan possuía um talento equiparável, também aprendido na rua.
Depois de a mãe desaparecer, tinha passado a infância numa série de esquálidos orfanatos do Sudeste Asiático até acabar por ser recrutada e treinada para matar. Para dizer a verdade, a primeira vez que Gray e Seichan se tinham encontrado, ela dera-lhe um tiro no peito, o que não era exatamente a forma mais carinhosa de manifestar o seu agrado. E, agora, à deriva e sem saber o que fazer após a destruição do cartel do seu patrão anterior, sentia-se novamente órfã.
Era uma assassina especializada sem raízes.
Até mesmo Gray tinha a impressão de que ela poderia desaparecer em qualquer altura e nunca mais voltar a ser vista. Embora se tivessem aproximado um do outro nos últimos quatro meses, procurando juntos pistas do paradeiro da mãe de Seichan, ela ainda mantinha uma barreira entre eles. E, contudo, Seichan aceitava a sua companhia, o seu apoio e, uma só vez, até mesmo a sua cama. Não é que alguma coisa se tivesse passado nessa noite. Tinham simplesmente trabalhado até tarde e partilhado a cama por conveniência. No entanto, deitado ao lado dela a ouvir a sua respiração e os seus sobressaltos enquanto sonhava, Gray não conseguira dormir.
Ela era como um animal selvagem, espantadiça e desconfiada.
Se ele fizesse um movimento demasiado brusco, ela assustar-se-ia e fugiria.
Até mesmo agora, ela ia sentada muito hirta no carro, tensa como as cordas de um violoncelo. Ele passou-lhe a mão por trás das costas e puxou-a contra si.
Sentiu-a descontrair-se e deixar o seu corpo encostar-se ao dele. Levou uma mão ao minúsculo dragão de prata pendurado ao pescoço e a outra procurou a de Gray, acariciando com um dedo a cicatriz que ele tinha no polegar.
Até Seichan encontrar um lugar neste mundo novo, isto era o melhor que ele podia esperar dela. Também sentia o que alimentava a veemência desta busca da mãe que durava há quatro meses. Era a possibilidade de ela se redescobrir, voltar a ligar-se à única pessoa que a tinha amado e protegido, e reconstruir a família que perdera. Só então, suspeitava ele, poderia afastar-se do passado e olhar para o futuro.
Gray partilhava esse objetivo com ela, desejava-o por ela e faria tudo para que isso sucedesse.
— Se o tipo que vamos ver souber alguma coisa — prometeu em voz alta —, havemos de o obrigar a falar.
00h32
— Vão a caminho — disse o interlocutor. — Devem chegar ao seu destino dentro de alguns minutos.
— E confirmaste a identidade deles, Tomaz?
Ju-long Delgado deu uns passos ao longo da secretária de madeira acetinada de Ceilão. Este tipo de madeira era tão rara quanto cara, o que definia os seus interesses. O escritório estava repleto de antiguidades, uma mistura de peças portuguesas e chinesas, como ele próprio.
— Tentámos roubar os documentos do homem mais pequeno — disse Tomaz. — Mas a mulher interveio e conseguiu tirar-nos a carteira dele.
Era certamente uma mulher talentosa.
Ju-long deteve-se e tocou numa das três fotografias sobre a secretária. A mulher era euro-asiática, aparentemente franco-vietnamita.
Surpreendeu o seu próprio reflexo no ecrã apagado do computador. Ju-long tinha o nome do pai. A sua família portuguesa encontrava-se em Macau desde as Guerras do Ópio em princípios do século XIX. O seu nome próprio vinha do lado da mãe. Tinha os olhos redondos e os pelos faciais do pai, que mantinha aparados, e as feições delicadas e a pele macia da mãe. Apesar de estar na casa dos quarenta, parecia ser muito mais novo. Mas aqueles que o julgavam inexperiente por causa da sua aparência juvenil cometiam um erro fatal ao tentarem aproveitar-se dele.
Erro esse que nunca mais voltavam a repetir.
Voltou a prestar atenção à mulher na fotografia. Como assassina com alguma notoriedade, a sua cabeça estava a prémio e pagavam um preço elevado por ela. A Mossad israelita oferecia a maior recompensa, prometendo que ela seria liquidada antes de alguém saber do envolvimento de Ju-long.
Era esse o seu maior talento: agir sem ser visto, manipular de longe e saber aproveitar as oportunidades.
Examinou a fotografia do soldado, um antigo comando. Tinha o rosto muito bronzeado, os olhos azul-acinzentados enrugados nos cantos pelo sol e o queixo forte sombreado por barba escura. O prémio por este continuava a subir, especialmente nas últimas doze horas. Parecia ter feito bastantes inimigos — ou estar a par de segredos com grande valor. Tanto fazia. Ju-long negociava meramente com mercadoria. Até agora, um cliente anónimo da Síria era quem oferecia mais dinheiro por ele.
O terceiro homem — com aspeto de gorila — parecia ser simplesmente um guarda-costas. Alguém que não contava e bastava afastar do caminho para deitar a mão aos que valiam mais.
Mas primeiro Ju-long tinha de os encontrar.
Teria sido fácil apanhar ambos à saída do terminal, mas um rapto em plena rua atrairia demasiada atenção. Depois de Macau ter sido devolvida aos chineses em 1999, operava de modo mais furtivo. A ação do novo governo contra as tríades chinesas da península tinha sido positiva e eliminado a competição, permitindo que ele dominasse melhor a sua organização. Agora, como Patrão de Macau, como lhe chamavam, tinha uma mão metida em tudo e o governo chinês fazia vista grossa desde que ele mantivesse os seus negócios com pulso firme e os funcionários recebessem semanalmente o seu quinhão.
À medida que Macau enriquecia, ele também enriquecia.
— Os teus homens já estão em posição no Casino Lisboa? — perguntou Ju-long a Tomaz para confirmar que não havia alterações no plano.
— Sim, senhor.
— Ótimo. E achas que vai haver resistência?
— Não têm armas de fogo. Suspeitamos, contudo, que estejam armados com facas. Mas isso não deve criar problemas.
Satisfeito, Ju-long anuiu com a cabeça.
No final do telefonema, lançou um olhar a uma televisão com ecrã de plasma pousada sobre uma antiga mala de porão portuguesa. Tinha antes ordenado a Tomaz para subornar um dos seguranças do Casino Lisboa a fim de aceder ao seu sistema interno de vigilância. Estava particularmente interessado nas imagens de uma das salas VIP. Havia inúmeras salas dessas em Macau ao dispor de grandes jogadores que queriam uma mesa de jogo exclusiva ou passar algum tempo com uma prostituta fina.
Só havia um ocupante na sala, sentado num sofá de seda vermelha, à espera dos seus convidados. O homem tinha falado de mais nos últimos dias acerca deste encontro à meia-noite e da sua sorte. E quando começaram a correr boatos de grandes maquias provenientes do estrangeiro, a notícia chegou aos ouvidos de Ju-long Delgado, que depressa descobriu a identidade dos recém-chegados.
Havia sempre maneira de lucrar quando aparecia dinheiro.
Ju-long deteve-se atrás da secretária. A mansão da família dava para a praça do Leal Senado, o histórico coração colonial de Macau, onde durante séculos tropas portuguesas faziam paradas e, agora, dragões chineses dançavam nas festas. Lanternas pendiam dos ramos das árvores por entre gaiolas com pássaros a chilrear. Do outro lado da praça, viam-se pequenos santuários com velas a flutuar em recetáculos de barro para iluminarem o caminho aos espíritos.
Mas a maior chama de todas pairava, cintilante, no céu: o fogo prateado de um cometa.
Satisfeito, Ju-long recostou-se na cadeira e olhou com atenção para o ecrã de plasma, pronto a deliciar-se com o espetáculo emitido esta noite do Casino Lisboa.
00h55
Isto não era a Macau de que ela se lembrava.
Seichan saiu do táxi e olhou em volta. A última vez que tinha aqui estado fora há quinze anos. Durante o trajeto, mal reconhecera do interior do táxi a sonolenta cidade portuguesa do passado, um lugar de ruas estreitas, mansões coloniais e praças barrocas.
Encontrava-se agora escondida por trás de imponentes muros de néon e encanto. Nessa altura, até mesmo o estado do Casino Lisboa era lamentável e em nada se parecia com o estilo de bolo de noiva de hoje. E isto para não mencionar a sua mais recente versão, o Grand Lisboa, uma torre dourada de trezentos metros com o feitio de uma flor de lótus.
Não era definitivamente a Macau de que se lembrava.
A única semelhança eram milhares de lanternas acesas a flutuarem no lago Nam Van. O incenso ardia nas margens e o odor a cravo-da-índia, anis e sândalo perfumava a suave brisa marítima. Era uma tradição milenar para homenagear os mortos.
Ao longo dos anos, Seichan tinha posto a flutuar muitas dessas lanternas em memória da mãe.
Mas talvez nunca mais...
Gray consultou o relógio e apressou-a.
— Só temos cinco minutos. Vamos chegar atrasados.
Avançou com Kowalski enquanto ela os seguia um passo atrás — não como mulher submissa, mas para proteger a retaguarda. Macau podia ter escondido o rosto por trás do néon e luzes brilhantes, mas ela sabia que, sempre que corria tanta fartura num espaço tão pequeno, especialmente num local no mundo que não era conhecido pela sua riqueza, o crime e a corrupção criavam raízes profundas. E sabia que a velha Macau — um lugar de guerras entre gangues, tráfego humano e homicídio — ainda prosperava à sua sombra.
Avistou um grupo de prostitutas tailandesas perto da entrada do casino, um exemplo da rede de corrupção que se estendia de Macau por toda a região. Uma delas aproximou-se de Gray, provavelmente atraída pela sua beleza viril e a promessa de dólares americanos — mas Seichan fitou os seus olhos exageradamente pintados e ela recuou rapidamente.
Passaram sem serem importunados por baixo das luzes de néon do Casino Lisboa e entraram pela porta principal. O cheiro intenso a tabaco incomodou-a imediatamente, picando-lhe os olhos e irritando-lhe a garganta. O fumo pairava no ar, tornando o andar principal ainda mais sombrio e sinistro.
Não havia aqui nenhum do deslumbramento dos casinos de Las Vegas. Era jogatina à antiga, uma recordação dos velhos tempos. O teto era baixo e a luz bruxuleante. Máquinas de moedas tilintavam e lançavam clarões de luz, mas estavam restritas a uma sala separada. As mesas de jogo ocupavam em exclusivo o andar principal: bacará, pai gow, sic bo, fan tan. Uma multidão de homens com o rosto marcado de bexigas e mulheres de aspeto mal-humorado rodeavam as mesas, fumando desesperadamente sem parar e ostentando talismãs para dar sorte. Tanto a esperança como o vício encurralavam-nos aqui.
Doze dragões estilizados pairavam no teto agarrando bolas luminosas que mudavam de cor. Dois desses globos estavam apagados, o que demonstrava a falta de manutenção.
No entanto, Seichan deu por si mais relaxada. O ambiente sórdido e sem pretensões do local agradava-lhe e sentia uma espécie de camaradagem canalha com ele.
— Os elevadores são ali — disse Gray, apontando para a esquerda.
Queriam subir aos andares de cima, penetrar no labirinto sombrio das salas VIP por onde passava a verdadeira riqueza de Macau. As mesas de jogo escondidas neste espaço privado superavam em número as do andar principal.
Gray carregou no botão do quarto andar do elevador. As salas VIP de nível superior eram operadas exclusivamente por promotores de jogo, companhias privadas que transportavam homens habituados a gastar muito dinheiro da China continental, ou de qualquer outro sítio, para Macau, proporcionando-lhes uma estada luxuosa e satisfazendo todos os seus desejos. Até as caves dos casinos eram transformadas em prostíbulos e raparigas podiam ser encomendadas a qualquer hora.
Vinte companhias diferentes faziam esse tipo de negócio, incluindo várias dirigidas por sindicatos de crime organizado em que o branqueamento de dinheiro era comum. Tal anonimato e discrição convinham ao objetivo de Gray e Seichan. Tinham vindo aqui fazendo-se passar por jogadores que apostavam grandes quantias. O pagamento a quem os informara seria lavado pelo operador do casino, mantendo limpas as mãos de ambos. O seu objetivo era simples: obter informações, pagar e ir embora.
O elevador abriu-se para um corredor decorado num estilo falsamente opulento, todo em vermelhos e dourados. Havia muitas portas e muitas delas eram guardadas por tipos corpulentos.
Kowalski olhou para eles como um touro irritado.
— Por aqui — disse Seichan, avançando.
Agora, com o fim à vista, ela apressava-se. Era a última oportunidade de saber da mãe; todas as outras pistas — uma após outra — tinham falhado.
Seichan esforçou-se por dominar a ansiedade. Nos últimos quatro meses, tinha dependido do seu treino para se manter alerta e não pensar no nó que sentia nas entranhas, um emaranhado de esperança, desespero e medo. Era por isso que, apesar do evidente desejo de Gray se envolver mais profundamente com ela, Seichan se tinha afastado dele.
Não ousava perder o domínio.
A sala VIP que procuravam encontrava-se ao fundo do corredor. Dois homens enormes com volumes salientes por baixo dos casacos, guarda-costas contratados pela companhia que alugara a sala, ladeavam essa porta.
Ao chegar ao pé deles, ela mostrou-lhes o cartão de identidade falso.
Gray e Kowalski imitaram-na.
Só então um dos guardas bateu à porta e a abriu para eles entrarem. Seichan entrou primeiro e avaliou rapidamente o espaço. As paredes eram douradas e o chão estava coberto por uma carpete vermelha e preta. Uma mesa de pano verde de bacará encontrava-se à esquerda e um conjunto de cadeiras estofadas com sede vermelha à direita. Só lá havia uma pessoa.
O doutor Hwan Pak.
A sua presença era a razão de tanta cautela e subterfúgios. Era o cientista mais importante do Centro Científico de Pesquisa Nuclear de Yongbyon, na Coreia do Norte — instalações conhecidas por enriquecerem urânio para o programa atómico do país. Este cientista também era um jogador inveterado, do que só algumas agências de espionagem estavam a par.
Apagando o cigarro, o doutor Pak levantou-se de um sofá. Tinha apenas um metro e poucos centímetros de altura e era magro como uma bengala. Saudou-os baixando ligeiramente a cabeça de olhos fitos em Gray, como percebendo que era ele quem mandava e sem fazer caso de Seichan, uma simples mulher.
— Está atrasado — disse com delicadeza mas em voz firme com pouco sotaque. Tirou um telemóvel do bolso. — Comprou uma hora do meu tempo.
Por oitocentos mil, como combinámos.
Seichan cruzou os braços, deixando Gray inserir o código de transferência estabelecido pelo organizador.
— Quatrocentos mil agora — disse Gray. — O resto só no caso de ficar satisfeito com a sua informação.
O preço era em dólares de Hong Kong, o equivalente a oitenta mil dólares americanos. Seichan teria pago com prazer dez vezes mais se o homem soubesse realmente alguma coisa acerca da mãe. E pela expressão de desespero nos olhos de Pak, era provável que o cientista tivesse aceitado muito menos do que eles tinham oferecido. Tinha grandes dívidas a pagar a gente pouco recomendável, dívidas que nem mesmo esta transferência saldaria totalmente.
— Não ficará decepcionado — garantiu Pak.
01h14
Do seu escritório do outro lado de Macau, Ju-long Delgado sorriu ao ver Hwan Pak fazer sinal aos seus convidados para se instalarem nas cadeiras estofadas de seda vermelha. O brutamontes preferiu encostar-se à mesa de bacará enquanto afagava distraidamente a superfície de feltro.
Os dois alvos com mais valor — o militar e a assassina — seguiram Pak e sentaram-se.
Ju-long desejou poder ouvir a conversa deles, mas o sistema de vigilância só emitia imagens.
Uma vergonha.
Era, contudo, um problema menor comparado com a recompensa.
Como ele bem sabia, quem espera sempre alcança.
01h17
Seichan deixou ser Gray a interrogar Hwan Pak, convencida de que o cientista norte-coreano estaria mais à vontade com outro homem.
Chauvinista filho da mãe...
— Conhece por conseguinte a mulher que procuramos? — perguntou Gray.
— Sim — respondeu Pak com um rápido assentir de cabeça. — Acendeu outro cigarro e, manifestamente nervoso, exalou o fumo. — Chama-se Guan-yin, mas duvido que seja esse o seu verdadeiro nome.
Não é, pensou Seichan. Ou, pelo menos, não era.
O nome verdadeiro era Mai Phuong Ly.
Uma lembrança veio-lhe subitamente à cabeça, inesperada e, naquela altura, inoportuna. Viu-se em criança deitada de barriga para baixo junto de um pequeno lago num jardim, remexendo a água com um dedo para tentar atrair uma carpa dourada — a seguir, o rosto da mãe refletiu-se ao lado dela, na superfície agitada da água, rodeado por flores de cerejeira a flutuar.
Tinham o nome da mãe.
Flores de cerejeira.
Seichan pestanejou, voltando ao momento presente. Não estava surpreendida por a mãe ter adotado outro nome. Andava fugida e tinha de viver escondida. Um novo nome permitia-lhe uma vida nova.
Utilizando todos os recursos da Sigma, Seichan tinha descoberto a identidade do bando armado que raptara a mãe. Pertenciam à polícia secreta do Vietname, eufemisticamente chamada Ministério da Segurança Pública. Tinham sabido das relações amorosas da mãe com um diplomata americano, o pai de Seichan, e procuraram obter segredos confidenciais dos EUA por intermédio dela.
A mãe tinha estado presa nos arredores da cidade de Ho Chi Minh — mas conseguira escapar um ano mais tarde no decorrer de um motim na prisão. Fora dada como morta durante um curto período de tempo por causa de um erro administrativo — as autoridades prisionais julgaram que ela tinha perecido no meio dos tumultos. Tal erro proporcionou-lhe a possibilidade de fugir e desaparecer no mundo.
Teria andado à minha procura?, perguntava Seichan a si mesma. Ou julgou que eu já tivesse morrido?
Tinha milhares de perguntas sem resposta.
— Guan-yin — prosseguiu Pak com um ligeiro sorriso amargo e trocista nos lábios. — Não merecia certamente um nome tão bonito, quando a conheci há oito anos.
— O que quer dizer com isso? — insistiu Gray.
— Guan-yin significa deusa da clemência. — Pak ergueu a mão esquerda revelando que não tinha um dedo. — Eis a prova do seu feitio misericordioso.
Seichan agitou-se na cadeira e falou pela primeira vez.
— Como a conheceu?
Ao princípio, Pak pareceu ignorá-la, mas, a seguir, semicerrou os olhos e fitou-a mais atentamente, vendo-a possivelmente pela primeira vez. A sua expressão era desconfiada.
— A sua voz parece... — gaguejou. — Mas é impossível.
Gray inclinou-se para a frente, atraindo a sua atenção.
— Esta hora está a sair-me cara, doutor Pak. Responda à pergunta desta senhora... Como conheceu Guan-yin? Em que circunstâncias?
Ele tentou visivelmente recompor-se e só então voltou a falar.
— Ela geria antigamente esta mesma sala — disse com um ligeiro movimento de cabeça para indicar a sala onde se encontravam. — Era a cabeça de dragão de um gangue de Kowloon, a tríade Duàn Zhi.
Incapaz de se dominar, Seichan estremeceu ao ouvir aquele nome.
Gray fez um som trocista.
— Está a dizer que Guan-yin era cabecilha de uma tríade chinesa?
— Sim — disse ele em tom brusco. — Foi a única mulher que alguma vez conseguiu tornar-se cabeça de dragão. Tinha de ser extremamente dura para ocupar tal posição. Eu devia ter sido mais esperto e não lhe ter pedido um empréstimo.
Pak esfregou o coto da mão em que faltava um dedo.
Gray reparou no gesto.
— Ela mandou que lhe cortassem o dedo?
— Aniyo — corrigiu ele. — Cortou-o ela mesma. Veio de Kowloon de propósito com um martelo e um cinzel. O nome da tríade dela significa Galho Partido. Era a maneira que ela tinha de garantir o pronto pagamento de uma dívida.
Gray fez uma careta ao imaginar a brutalidade do processo.
Seichan também estava impressionada. Custava-lhe respirar. Não conseguia associar a mulher que tinha cometido tamanha crueldade com a pessoa que uma vez tratara de um pombo com uma asa partida. Mas sabia que aquele homem não estava a mentir.
Gray estava menos convencido.
— E como podemos ter a certeza de que essa chefe de tríade é a mulher de quem andamos à procura? Que provas tem? Tem em seu poder alguma fotografia dela?
No relatório que a Sigma lhes enviara havia uma fotografia da mãe de Seichan tirada dos arquivos da prisão vietnamita onde estivera encarcerada. E
também havia possíveis locais do seu paradeiro, que infelizmente cobriam uma vasta área do Sudeste Asiático, e uma imagem computorizada para dar uma ideia da sua aparência agora, vinte anos depois.
O doutor Pak tinha sido o único peixe prometedor a morder o isco.
— Uma fotografia? — O cientista norte-coreano abanou a cabeça e acendeu mais um cigarro. — Ela tapava o rosto em público. Só os que tinham cargos elevados na tríade a conheciam. Se alguém mais a via, não vivia tempo suficiente para dar com a língua nos dentes.
— Então como conseguiu o senhor...?
Pak levou a mão à garganta.
— O dragão de prata. Vi-o pendurado, a brilhar, à volta do pescoço...
quando ela segurou no martelo.
— Como este? — Seichan mostrou o minúsculo dragão que trazia por baixo da blusa. O dossiê da Sigma incluía uma imagem do pendente, mas o talismã de Seichan era uma cópia de outro. A recordação do original permanecia gravada nela e aparecia-lhe muitas vezes em sonhos.
... aninhada nos braços maternais na pequena cama por baixo de uma janela aberta, com os pássaros da noite a cantar, e o luar refletido no dragão de prata pousado no peito da mãe, que cintilava como água a cada respiração...
Hwan Pak tinha uma lembrança diferente. Recuou ao ver o pendente, como se quisesse escapar-lhe.
— Deve haver muitos pendentes com um dragão igual — disse Gray. — O
que está a dizer não constitui nenhuma prova. Trata-se apenas de uma joia que viu há oito anos.
— Se deseja realmente uma prova...
Seichan interrompeu-o, levantando-se e voltando a pôr o dragão por baixo da blusa. Chamou Gray à parte para uma conversa privada.
Aproximaram-se da mesa de bacará e puseram-se atrás de Kowalski.
— O Pak está a dizer a verdade — segredou-lhe Seichan ao ouvido. — Temos de descobrir o paradeiro da minha mãe em Kowloon.
— Sei que queres acreditar nele, Seichan, mas deixa-me...
Ela agarrou-lhe no braço para o calar.
— O nome da tríade... Duàn Zhi.
Notando que a expressão do rosto da rapariga se alterava, ele ouviu-a em silêncio.
Ela sentiu os olhos marejados de lágrimas vindas de um recanto de felicidade e dor onde os pássaros da noite ainda chilreavam na floresta.
— O nome... Galho Partido — murmurou ela, sentindo algo partir-se dentro dela.
Ele aguardou, sem compreender, mas dando-lhe espaço para explicar ao seu próprio ritmo.
— O meu nome... — disse, hesitante, sentindo-se subitamente exposta. — Aquele que a minha mãe me deu... e que eu abandonei para enterrar a infância atrás de mim... era Chi.
Um novo nome permitia uma vida nova.
Os olhos de Gray abriram-se de espanto.
— O teu nome verdadeiro é Chi?
— Era — insistiu ela.
Essa menina tinha morrido há muito tempo.
Seichan respirou fundo.
— Em vietnamita, chi quer dizer galho.
Viu na expressão de Gray que ele tinha percebido.
A mãe dera à tríade o nome da filha perdida.
Antes de Gray ter tempo de responder, ouviu-se uma tosse aguda do outro lado da porta — mas o ruído não viera de uma garganta humana. Corpos tombaram no corredor abatidos por tiros disparados com silenciador.
Gray e Kowalski viraram-se quase ao mesmo tempo para fazerem frente ao perigo.
— Queriam uma prova? — gritou Hwan Pak do outro lado da sala, apontando para a porta. — Já aí vem!
Seichan entendeu imediatamente o que o cientista tinha feito. Tendo em conta o que tinham acabado de saber, devia ter suspeitado disso há mais tempo.
Praguejou. Nunca teria cometido um erro destes no passado. O tempo que passara com a Sigma tornara-a descuidada.
Pak afastou-se da porta sem parecer assustado. Fora ele quem maquinara este plano para receber uma recompensa maior do que a que Gray tinha proposto. Era uma maneira de saldar todas as suas dívidas. O filho da mãe tinha-os atraiçoado, vendendo-os à tríade e transmitindo assim um aviso a uma mulher que não recuara diante de nada para manter o rosto escondido do mundo.
Seichan compreendia isso.
Teria feito a mesma coisa.
Fazia-se o que se tinha de fazer para sobreviver.
01h44
Ju-long Delgado não se mostrou tão compreensivo quanto à súbita mudança de situação ocorrida no Casino Lisboa. Levantou-se e agarrou no telemóvel.
Viu no ecrã de plasma como os três estrangeiros reagiram ao que se passava do outro lado da porta da sala VIP. Viraram a mesa de bacará para a usar como escudo enquanto o cientista norte-coreano, embora menos inquieto, recuava para um canto, pondo-se fora de perigo.
Ju-long telefonou a Tomaz. Tinhalhe especificamente ordenado para não atacar os alvos antes de o doutor Pak sair. Não queria problemas com os norte-coreanos. Fazia muitos negócios lucrativos com o governo deles, organizando o transporte de membros preeminentes, como Hwan Pak, de e para Macau. Tinha até visitado Pyongyang em pessoa para melhorar e solidificar essas relações.
Tomaz atendeu, respirando pesadamente como se estivesse sem fôlego.
— Também vimos o que aconteceu. Um autêntico tiroteio. Vou a caminho do Casino Lisboa neste momento. Alguém está a assaltar a mesma sala VIP.
Ju-long manifestou virtuosamente a sua indignação. Andavam a tentar roubá-lo? Havia algum licitador pouco satisfeito decidido a contornar o leilão e fazer uma abordagem direta?
Tomaz elucidou-o.
— Achamos que foi uma das tríades.
Ele cerrou os punhos.
Malditos cães chineses...
O seu plano devia ter chegado a ouvidos errados.
— Como quer que procedamos? Recuamos ou continuamos como combinado?
Ju-long não tinha escolha. Se não retaliasse energicamente, as tríades tomariam isso como um sinal de fraqueza e ele ver-se-ia envolvido em guerras territoriais durante anos. O preço para manter a sua organização bem como o enfraquecimento do seu estatuto não seria visto com bons olhos pelos funcionários chineses que governavam Macau.
Era necessário tomar medidas radicais.
— Fechem o casino — ordenou, tencionando dar uma lição aos intrusos. — E chamem mais homens. Matem qualquer membro de uma tríade que for lá encontrado, quer esteja envolvido ou não. E toda a gente suspeita de os ter ajudado ou de estar a par do assalto.
— E os estrangeiros?
Ponderou as vantagens e desvantagens. Embora o dinheiro a ganhar com eles poder ser considerável, a sua morte também serviria de exemplo e provaria que Ju-long estava disposto a sacrificar quaisquer lucros para manter a sua autoridade e prestígio. Entre os chineses, a honra e salvar a face eram mais importantes do que respirar.
Permitiu que a raiva se esvaísse, reconciliando-se com a realidade da situação. Não se podia desfazer o que já estava feito.
Além do mais, ainda poderia vir a lucrar com os seus cadáveres.
E um pequeno lucro era melhor do que nada.
— Matem-nos — ordenou. — Matem todos.
3
17 DE NOVEMBRO, 09H46, PST
LOS ANGELES, BASE DA FORÇA AÉREA EL SEGUNDO, CALIFÓRNIA
O caos ainda reinava no Space and Missiles Systems Center.
Há quase duas horas que a imagem via satélite do litoral leste a fumegar tinha aparecido no ecrã gigante. O pessoal da base tinha imediatamente confirmado que Nova Iorque, Boston e Washington estavam intactas e em segurança. A vida prosseguia lá sem contratempos.
O alívio na sala foi palpável. A reação de Painter não foi exceção. Tinha amigos e colegas no Nordeste. Ficava, contudo, contente por a noiva se encontrar no Novo México. Reviu o rosto de Lisa emoldurado por cabelos louros, sorrindo-lhe com um ar malicioso que punha sempre o seu coração a bater com mais força. Se alguma coisa lhe tivesse acontecido...
Mas, afinal, tudo corria bem a leste.
Então, que raio tinha o satélite transmitido ao cair?
Nas duas últimas horas era essa a pergunta crucial. As teorias corriam por toda a sala de comando. Era a fotografia alguma extrapolação? Uma simulação computorizada de um ataque nuclear? Mas todos os engenheiros declaravam que tais cálculos excediam o alcance da programação original do aparelho.
Que tinha então acontecido?
Painter e a doutora Jada Shaw permaneciam diante dos enormes ecrãs juntamente com um punhado de engenheiros e altas patentes militares.
Uma imagem via satélite da ilha de Manhattan cintilava em frente deles. Um jovem técnico percorreu a largura da ilha com o ponto vermelho brilhante do ponteiro laser que segurava na mão.
— Isto é uma imagem obtida de um satélite NRO no momento exato em que o IoG-1 passou a arder pela Costa Leste. Pode ver-se a rede das ruas e os lagos do Central Park. Temos aqui a mesma imagem fracionada tirada pelo IoG-1.
Premiu um botão no punho do ponteiro e apareceu outra imagem ao lado da primeira, uma secção ampliada da fotografia tirada pelo satélite ao cair e mostrando a mesma área de Manhattan.
— Se pusermos uma em cima da outra...
O técnico sobrepôs a segunda sobre a primeira. Por entre o fumo e as chamas, a rede de ruas alinhava-se perfeitamente. Até mesmo as dimensões dos lagos do Central Park combinavam.
Um murmúrio elevou-se da assistência.
A doutora Shaw avançou de testa franzida para ver mais de perto.
— Como podem ver — continuou o técnico —, isto é a cidade de Nova Iorque, não é nenhum fac-símile. Com este grau de pormenor, a destruição representada aqui não se deve a um ruído digital que, por inadvertência, faça parecer que a Costa Leste esteja a arder.
E, para provar o seu ponto de vista, o técnico ampliou a imagem de vários locais em Manhattan. Apesar de a resolução se tornar granulosa, os mais ínfimos pormenores da ilha estavam corretos. Mas, agora, o Empire State estava em chamas, o bairro financeiro em ruínas e a ponte de Queensboro toda torcida.
Parecia o cenário digital de um filme sobre catástrofes.
Boston e Washington não estavam em melhores condições.
A assistência começou a fazer perguntas, mas a doutora Shaw, com uma mão no queixo, aproximou-se simplesmente, examinando as duas imagens de novo separadas.
A uns metros, o general Metcalf chamou Painter com voz irritada.
— Por favor, diretor Crowe. Preciso de falar consigo.
Painter foi ter com ele diante do mapa do mundo.
— São os dados telemétricos mais recentes e sofisticados que possuímos — disse Metcalf, apontando para o trajeto da queda do satélite. — O local do impacte foi provavelmente aqui, numa região remota do Nordeste da Mongólia.
Como pode ver, não fica longe das fronteiras da Rússia e da China. Mas, até agora, nenhum desses países reagiu a esta colisão.
— Temos lá alguns espiões?
Metcalf abanou a cabeça.
— Essa região da Mongólia é montanhosa e longínqua. A sua população é constituída apenas por tribos nómadas.
Painter compreendeu.
— Nesse caso, temos de lá ir e encontrar os destroços do engenho espacial militar antes que a notícia chegue aos ouvidos dos russos ou dos chineses.
— Exatamente.
Painter olhou para o outro ecrã. Ninguém compreendia o que dera origem àquela inquietante imagem, mas todos sabiam que as respostas se encontravam no meio dos destroços do Olho de Deus. Era fundamental que a tecnologia de ponta do satélite não fosse parar às mãos de uma nação estrangeira.
— A capitã Kat Bryant já se encontra no centro de comando da Sigma a elaborar um plano logístico para uma equipa de busca.
— Muito bem. Quero que você apanhe o primeiro avião de volta a Washington. Temos um jato à sua espera. A sua prioridade mais urgente é recuperar os destroços do satélite.
E Metcalf despediu-o, virando-lhe as costas.
Ao lado, a doutora Shaw tinha inclinado a cabeça junto do técnico. Este assentia com a cabeça, olhando para o mapa, e depois fez um ar assustado.
Que se passava?
O homem afastou-se da cientista e dirigiu-se para a secção de engenharia, fazendo sinal aos colegas que viessem ter com ele.
Curioso, Painter aproximou-se da astrofísica, que continuava a examinar o ecrã.
Ela reparou na sua presença.
— Continuo a dizer que tem que ver com o cometa.
Painter tinha ouvido as suas teorias anteriores.
— Doutora Shaw, ainda julga que tudo isto é consequência da energia negra?
— Trate-me por Jada. E continuo, sim. Segundo os últimos dados provenientes do satélite, o efeito geodésico registou um desalinhamento de 5,4
graus.
Pelo olhar excitado que lhe lançou, Painter percebeu que ela esperava que ele ficasse impressionado.
Mas não ficou.
— O que quer isso dizer precisamente?
Ela suspirou, frustrada. Tinha passado as duas últimas horas a discutir com as altas patentes na base, tentando que a escutassem, e notava-se que estava a perder a paciência.
— Imagine uma bola de bólingue pousada na superfície de um trampolim — explicou. — A massa da bola criaria uma depressão na superfície. É o que a Terra provoca à sua volta. Curva o espaço e o tempo, coisa que tanto a teoria como a experiência provam. O efeito geodésico mede essa curvatura. Assim, os dados indicam um desalinhamento, registando uma prega nessa curvatura de espaço-tempo. Algo que, de acordo com a minha teoria, podia acontecer se o IoG-1 captasse um influxo de energia negra. Mas nunca esperei uma prega tão funda.
Uma ruga de inquietação formou-se entre as suas próprias sobrancelhas.
— Então o que a preocupa tanto? — perguntou ele.
— Tinha esperado, no melhor dos casos, ver somente uma contração no efeito geodésico. Algo inferior a 0,1 por cento e breve, ao nível da escala nanométrica do tempo. Uma torção no alinhamento superior a cinco por cento e mantida durante quase um minuto... — Abanou ligeiramente a cabeça.
— A sua teoria anterior dizia que a explosão maciça de energia negra podia ter feito um pequeno buraco no espaço-tempo, abrindo brevemente uma janela para um universo alternativo, paralelo ao nosso, em que a Costa Leste era destruída.
Ela estudou o ecrã.
— Ou pode tratar-se de uma espreitadela no nosso futuro.
Ela nunca tinha falado dessa inquietante possibilidade.
— O tempo não é uma função linear — continuou a cientista, como se estivesse a maquinar algo. — O tempo é apenas outra dimensão. Como para cima e para baixo ou esquerda e direita. O fluxo do tempo também pode ser afetado pela gravidade ou pela velocidade. E, assim, quando a curvatura espaço-tempo é rasgada ou enrugada, pode fazer o tempo dar um salto, como a agulha de um gira-discos a tropeçar numa ranhura do vinil.
O medo iluminou-lhe os olhos.
Painter tentou afastar esse pânico.
— Vocês, os mais novos, já não ouvem discos desses...
Jada virou-se para ele. A indignação substituíra a ansiedade.
— Para que saiba, tenho uma coleção de discos antigos de jazz que rivaliza com as melhores do mundo... B. B. King, John Lee Hooker, Miles Davis, Hans Koller...
— Okay. — Estendeu a mão para aplacar a fúria dela.
— Nada se compara ao velho vinil — terminou ela, suspirando.
Painter não a contrariou.
E foi salvo de mais discursos pelo regresso do técnico.
— Tinha razão — disse-lhe ele com uma expressão ainda mais assustada.
— Razão acerca de quê? — perguntou Painter.
— Mostre-me — disse ela, virando-se para o técnico e ignorando-o.
O técnico voltou ao ecrã gigante e, recuperando outra vez a imagem do satélite NRO, pô-la sobre a fotografia tirada pelo IoG-1.
— Como pensava, as sombras não combinam. Não só neste caso. Testámos alguns locais em Boston e obtivemos a mesma anomalia. — Apontou para o grupo de engenheiros e técnicos junto da cabina de trabalho. — Estamos a concentrar-nos em diferentes pontos ao longo da Costa Leste e a calcular o grau de variação.
Ela assentiu com a cabeça.
— Precisamos de calcular o diferencial de tempo.
— Estamos a trabalhar nisso.
Painter não percebeu.
— Que se passa?
Ela apontou para o ecrã gigante.
— As sombras não combinam entre as duas imagens. Estão um pouco afastadas uma da outra.
— Que significa isso?
— As duas imagens foram tiradas ao mesmo tempo e, portanto, as sombras deviam ser iguais. Como duas fotografias do mesmo quadrante solar tiradas no mesmo momento.
Ela lançou um olhar duro a ambos.
— Mas as sombras não estão alinhadas, o que significa...
— A posição do Sol no céu é diferente nas duas fotografias.
A apreensão fê-lo endireitar-se.
Ela soltou um suspiro inquieto.
— O Olho de Deus fez uma fotografia de Manhattan a uma hora diferente daquela registada pelos nossos relógios quando ele caiu.
Painter imaginou a agulha a saltar na ranhura de um disco em vinil.
— Os técnicos estão a tentar descobrir a data e a hora correspondente à posição do Sol captada na imagem do satélite — prosseguiu Jada. — Estão a triangular locais ao longo da Costa Leste para calcular a hora exata.
Por esta altura, a crescente agitação na cabina de engenharia tinha atraído mais pessoas.
O técnico-chefe endireitou-se e fitou Jada.
— A variação é de oitenta e oito... — Alguém o puxou por uma manga e ele aproximou-se do ecrã, tornando depois a recuar. — Digamos umas noventas horas.
Eram menos de quatro dias.
O general Metcalf veio ter com ele.
— Que se passa?
O olhar de Painter pousou no rosto de Jada onde a certeza brilhava.
— Essa imagem não se deve a um problema de ordem técnica — disse Painter, apontando com a cabeça na direção da catástrofe projetada no ecrã. — É como o mundo há de ficar dentro de quatro dias.
18h54, CET
ROMA, ITÁLIA
O telefone a tocar acordou Rachel Verona de um sonho em que estava a afogar-se. Ela esbracejou, sem fôlego, demorando algum tempo a perceber que não se encontrava na sua cama, mas no sofá estofado do gabinete do tio Vigor.
Tinha adormecido a ler um texto sobre São Tomé.
O cheiro a alho e pesto do almoço que tinha encomendado para ambos ainda pairava no ar. As embalagens estavam em cima da secretária, junto ao cotovelo do tio.
— Não te importas de atender? — pediu Vigor.
Examinava o crânio antigo com os óculo de ver ao perto empoleirados na cana do nariz. Media com um compasso aberto o comprimento do osso nasal.
Anotou a medição numa folha de papel milimétrico.
Como o telefone continuasse a tocar, Rachel levantou-se e aproximou-se da secretária. Contemplou por uma seteira uma nesga da Lua acentuada pelo arco da longa cauda do cometa.
— Está a ficar tarde, tio. Podemos terminar isso amanhã de manhã.
Ele acenou desdenhosamente o compasso.
— Durmo poucas horas e trabalho melhor quando está tudo assim mais sossegado.
Rachel atendeu finalmente o telefone.
— Pronto?
Uma voz masculina falou em tom cansado.
— Sono Bruno Conti, dottore di recerco da Centro Studi Microcitemia.
A rapariga tapou o bocal.
— É o doutor Conti do laboratório do ADN, tio.
— Demoraram bastante tempo — disse Vigor, estendendo a mão para o telefone.
Rachel fitou a caveira enquanto o tio falava rapidamente com o geneticista.
Reconheceu a razão da impaciência de Vigor ao reparar na data fatal escrita no alto do crânio. A profecia não a atemorizava. Desde o princípio dos tempos que as pessoas prediziam o fim do mundo — como os antigos maias com o seu profético calendário que vaticinava o apocalipse no fim do milénio.
Em que é isto diferente?
A conversa de Vigor com o doutor Conti tornou-se mais viva — e ele acabou por desligar.
Rachel reparou nas olheiras do tio.
— Quais são as notícias?
— Confirmaram o meu cálculo quanto à idade do crânio e do livro.
Apontou com um gesto para o Evangelho de São Tomé encadernado com pele humana. Perguntou a si mesma, pela centésima vez, porque teria alguém feito uma coisa daquelas. Era verdade que, na sua época, o livro fora considerado herético, não aceitando que a religião ortodoxa fosse o único caminho para a salvação, declarando que a forma de chegar a Deus estava dentro de todos nós.
Procura e encontrarás.
No entanto, heresia ou não, porquê encaderná-lo com pele humana?
— Então que idade têm o crânio e o livro? — perguntou.
— O laboratório disse que datam do século treze.
— Quer dizer, por conseguinte, que não são do século três como a escrita aramaica sugeria? Então não pode ser um autêntico talismã mágico judeu, como aqueles encontrados por arqueólogos no passado.
— Pois não. É como eu presumi. É provavelmente a cópia do original. Na verdade, o crânio nem sequer é judeu.
— Como sabes?
Ele fez sinal para a sobrinha se aproximar.
— Enquanto estavas a dormir, examinei a estrutura craniana e a anatomia configuracional. Primeiro que tudo, a caveira é mesocraniana.
— Que quer isso dizer?
— Que o crânio é largo e de altura média. Repara também como os ossos da face são grossos, as órbitas redondas e os ossos nasais chatos e largos. — Virou o crânio ao contrário. — E olha para os dentes. Os incisivos têm a forma de pás e são muito diferentes do tipo mediterrânico.
— Então de onde achas que este crânio vem?
Ele virou-se para ela, tamborilando o compasso sobre o livro de anotações.
— Pelos cálculos que tenho feito de dimensões cranianas... tamanho dos olhos, profundidade da fossa pré-nasal e grau de prognatismo... diria que este crânio é originário do leste da Ásia, o que se costumava denominar mongoloide.
Uma onda de respeito percorreu-a, lembrando-se uma vez mais que o tio era muito mais do que um simples homem do clero.
— Então, veio algures do Extremo Oriente?
— Assim como o livro — acrescentou ele.
— O livro?
Ele olhou-a por cima dos aros.
— Pensei que tinhas ouvido a minha conversa com o doutor Conti.
Ela abanou a cabeça.
O padre deixou a mão pairar por cima da macabra encadernação com o olho cosido na capa.
— Segundo a análise do doutor Conti, a pele do livro e do crânio têm o mesmo ADN. Partilham origem idêntica.
Rachel engoliu em seco.
Quem quer que tivesse feito estes talismãs, usara a pele do mesmo indivíduo.
— Solicitei ao laboratório que elaborasse um perfil racial — prosseguiu Vigor. — Usando ADN autossómico e mitocondrial para ver se conseguimos limitar a origem destas relíquias. O padre Josip deve ter-mas enviado por alguma razão. Já não temos muito tempo. Ele sabia que eu teria recursos que ele não possuía e que o ajudaria.
— Como, por exemplo, o laboratório?
Vigor fez que sim com a cabeça.
— Então por que razão o padre Josip simplesmente não te escreveu?
O tio piscou-lhe maliciosamente um olho.
— Quem disse que ele não o fez?
Aquela revelação irritou-a.
— Porque não me disseste...?
— Só soube há um quarto de hora. Quando estava a examinar o crânio. Queria terminar as medições e tu precisavas de descansar. Então o telefone tocou e as notícias do laboratório distraíram-me.
Rachel fitou o crânio.
— Mostra-me lá.
Vigor apontou para o orifício por onde a medula espinhal penetra no crânio.
Iluminou o interior com uma lanterna.
— Em que outro sítio esconderia uma pessoa uma mensagem secreta?
Rachel debruçou-se e espreitou para dentro do crânio. Cera carmesim tinha sido colada na superfície interior do crânio, como o selo de uma carta papal.
Minúsculas letras em latim encontravam-se lá inscritas. Ela imaginou Josip a escrever cada letra com um instrumento afiado de cabo comprido pelo estreito orifício do crânio.
Porquê tantos segredos? Até que ponto seria esse padre paranoico?
Rachel leu a mensagem.
Traduziu em voz alta: «Socorro. Vem ao mar de Aral.»
Franziu a testa. O mar de Aral situava-se na fronteira entre o Cazaquistão e o Usbequistão, na Ásia Central. Era uma região árida. De acordo com a opinião do tio, a determinação morfológica da origem do crânio era o Extremo Oriente.
Chegara o padre Josip à mesma conclusão? A herança racial da relíquia tinha-o levado da Hungria rumo a leste para continuar a sua investigação? Mas do que andava ele à procura e porquê tantos segredos?
Semicerrando os olhos, distinguiu uma série de números árabes por baixo da inscrição latina.
Vigor reparou no que tinha chamado a atenção de Rachel.
— São os graus de longitude e de latitude.
— De uma localização específica. — Rachel não conseguiu disfarçar o tom de desconfiança na voz. — É lá que o padre Josip quer que te encontres com ele?
— É o que parece.
Rachel franziu a testa. Não queria que o tio se pusesse a vaguear sabia Deus por onde devido a uma críptica mensagem de um padre errante que tinha desaparecido há quase dez anos.
Vigor pousou a caveira.
— Vou partir assim que o Sol nascer e apanhar o primeiro avião para o Cazaquistão.
Rachel teve um sobressalto ao ouvir tal coisa, mas sabia por longa experiência que nunca conseguiria demovê-lo. Decidiu chegar a um acordo.
— Mas sem mim, não. Tenho muito tempo de férias acumulado, portanto vou contigo. Quer queiras, quer não.
Ele sorriu.
— Esperava que dissesses isso. Pergunto até a mim mesmo se não deveríamos contactar o diretor Crowe... Pode ser que ele consiga arranjar-nos apoio no terreno.
— Queres envolver a Sigma nisto...? Tudo por causa de uma antiga profecia inscrita num crânio?
Revirou comicamente os olhos. No passado, ela e o tio tinham tido ligações com a Sigma e ela certamente não rejeitaria uma desculpa para voltar a ver o comandante Gray Pierce. Haviam tido uma relação intermitente ao longo de anos que acabou numa amizade mútua. Por vezes, com benefícios. Mas ambos sabiam que as relações a longa distância nunca duram. No entanto... refletiu um pouco mais, mas desistiu. Não iam incomodar a equipa de peritos científicos e militares da Sigma por causa de um assunto tão modesto como este.
— Acho que devíamos aproveitar a sua peritagem — insistiu Vigor. — E, além do mais, tenho a impressão de que estamos a ficar sem tempo.
Como prova disso, a estreita janela estilhaçou-se e uma cascata de vidro tombou no interior do gabinete. Um objeto ricocheteou no parapeito de pedra e foi cair ao fundo da sala.
O ruído repentino assustou Vigor, mas Rachel reagiu imediatamente.
Agarrou-o pela cintura e ambos rolaram no chão, afastando-se da janela.
Protegeu-o por baixo da secretária com o corpo quando a granada explodiu.
10h18, PST
Sobrevoando a Califórnia Los Angeles desapareceu sob as asas do avião a jacto quando este começou a travessia do país rumo a Washington. Painter tinha pedido ao piloto que não poupasse combustível e levasse o Bombardier Global 5000 ao limite máximo. O
luxo do interior, com bar e poltrona de cabedal, desmentia a tecnologia avançada dos motores que podiam alcançar 590 milhas por hora.
Painter tencionava testar as pretensões do fabricante no decorrer do voo, sobretudo porque se previa que a Costa Leste arderia em menos de quatro dias.
Quer fosse verdade ou não, o general Metcalf tinha-lhe pedido que, de momento, não pensasse nisso e encarregara-o de um assunto mais prático: a colisão do satélite IoG-1. As suas ordens ainda lhe retiniam nos ouvidos.
O seu primeiro objetivo é encontrar os destroços do satélite. E, como precaução, vou começar a avaliar o risco de as ameaças à Costa Leste se confirmarem.
Cada um deles tinha um papel a desempenhar.
O avião fez uma viragem ao elevar-se para fora do espaço aéreo de Los Angeles. O cometa brilhava no céu azul com suficiente intensidade para ser visto de dia. À noite, a cauda estendia-se por entre as estrelas, tão luminosa que se distinguia a sua ondulação cintilante, conferindo-lhe a aparência de uma coisa viva. Esperava-se que ardesse lá no alto durante quase um mês enquanto o cometa passava lentamente pela Terra.
Sentando-se ao lado dele, ela reparou no seu ar atento. Ela era o único outro passageiro a bordo do jacto. Fez tilintar o copo de Coca-Cola que segurava nas mãos.
Jada tinha falado com Metcalf sobre a sua teoria de o tempo saltar uma pulsação por causa de uma prega no espaço-tempo. A teoria explicava as sombras errantes descobertas na fotografia, sombras que sugeriam que a imagem podia ser a perceção fugidia de noventa horas no futuro.
— Não creio que tenhamos convencido o general — disse Painter, voltando-se para ela.
— E eu também não tenho a certeza de estar convencida — acrescentou Jada.
Isto surpreendeu-o — surpresa essa que deve ter transparecido no seu rosto.
— Há tantas variáveis em jogo — explicou ela, remexendo-se desconfortavelmente no assento. — Como disse antes, a imagem podia ser uma espreitadela num futuro alternativo e não necessariamente o nosso. Recuso acreditar que o futuro está gravado em pedra. De facto, a física quântica desafia tais passagens lineares para o futuro. O mero ato de observar pode mudar o destino, como com o gato de Schrödinger.
— E como se aplica isso aqui?
— Bem, veja o caso desse gato. É um exemplo clássico da estranheza da mecânica quântica. Nessa experiência, põe-se um gato dentro de uma caixa com uma pílula envenenada que tem igual probabilidade de matar, ou não, o gato.
Enquanto a caixa está fechada, considera-se que o gato está em estado suspenso... simultaneamente morto e vivo. Só depois de abrir a caixa e verificar o estado do gato o seu destino fica determinado de uma maneira ou de outra. A ideia de algumas pessoas é que, quando a caixa é aberta, o universo se divide em dois. Num universo, o gato está vivo, e, no outro, morto.
— Certo.
— Pode acontecer a mesma coisa com a fotografia tirada pelo satélite quando o espaço-tempo se enrugou à sua volta. Num universo, o mundo é destruído; no outro, não.
— Quer dizer, então, que temos cinquenta por cento de probabilidade de sobreviver. Com o destino da humanidade suspenso na balança. Tais probabilidades não me deixam lá muito contente.
— O fluxo do tempo torna-se mais sombrio daí em diante. Só o facto de o satélite tirar a fotografia e todos nós a virmos é um ato de observação. O que fazemos desde esse momento pode mudar o destino... mas não sabemos se as nossas ações tornarão maiores ou menores a probabilidade de a catástrofe acontecer.
— Parece que... durante os próximos quatro dias... vamos ser todos como o gato de Schrödinger, encurralados nesse estado suspenso entre a sobrevivência e a morte.
Ela anuiu com a cabeça, sem parecer mais satisfeita do que ele.
— Estamos tramados quer façamos uma coisa ou outra.
Ela encolheu os ombros.
— Isso resume bastante bem a física quântica.
— O que sugere então que façamos?
— Temos de encontrar esse satélite. É o mais importante.
— Você parece o general Metcalf a falar.
— Ele tem razão. Todas as minha teorias não passam de conjeturas. Mas depois de analisar os destroços, posso ter algo mais concreto para propor.
Jada mudou de posição para o encarar.
— Sei que não ficou lá muito entusiasmado por eu me juntar à equipa que vai procurar os destroços à Mongólia, mas ninguém sabe mais acerca desse satélite do que eu. Sem uma pessoa intimamente conhecedora à mão, podem perder-se dados valiosos... ou ainda pior.
— Como assim, pior ?
Ela suspirou pesadamente.
— Já lhe expliquei como esse influxo de energia negra enrugou provavelmente a curvatura do espaço-tempo, formando uma prega muito mais funda do que as nossas estimativas indicavam. Os meus cálculos preliminares, contudo, previam um perigo maior.
— Que perigo?
— Há a ligeira possibilidade de termos feito um nó na curva do espaço-tempo, algo semipermanente, capaz de durar um determinado período de tempo... e isso pode ainda estar entrelaçado, no plano quântico, com o que resta do satélite.
— Entrelaçado?
— Um acontecimento desses ocorre quando dois objetos interagem durante certo tempo, partilham estados quânticos e depois se separam. Em determinados casos, os seus estados quânticos permanecem ligados... uma mudança no estado quântico de um muda instantaneamente no outro. Até mesmo quando se encontram muito distantes um do outro.
— Isso parece desafiar a lógica.
— E contraria a velocidade da luz. Confundiu Einstein, que chamou a esse efeito spukhafte Fernwirking, «ação bizarra à distância». No entanto, não só este fenómeno foi demonstrado no domínio subatómico em laboratório como também um grupo de investigadores chineses realizaram recentemente a mesma experiência visível a olho nu com dois diamantes. Tudo o que é necessário é energia suficiente.
— Algo como uma explosão de energia negra?
— Exatamente. Se há uma irregularidade na curvatura do espaço-tempo à volta da Terra e se o seu estado quântico se entrelaça com o satélite, qualquer má manipulação dos destroços da colisão pode fazer com que essa irregularidade abra um buraco do espaço à crosta terrestre.
— E isso não seria bom.
— Nada bom... Caso aprecie a vida neste planeta.
— Está a apresentar um argumento fascinante, doutora Shaw.
Todavia, antes de ele poder fazer um comentário final, o seu telefone via satélite tocou. Ao verificar o ecrã, viu que a chamada provinha do comando da Sigma em Washington. Era a capitã Kathryn Bryant, a comandante adjunta.
Chefiava os serviços de recolha de informações confidenciais da Sigma, mas ele encarregara-a da logística preliminar para organizar uma equipa de busca. O
plano era que o grupo do comandante Pierce prosseguisse diretamente da China para Ulan Bator, capital da Mongólia, a fim de se encontrar com dois enviados de Washington.
Kat tinha sugerido envolver pouca gente pois o satélite caíra na região de Khan Khentii, onde o acesso era rigorosamente limitado, principalmente a estrangeiros, devido aos esforços de preservação — tanto naturais como históricos. E o povo mongol também considerava essa área sagrada. Qualquer deslize e poderiam ser expulsos.
Por conseguinte, os pormenores logísticos ainda estavam a ser elaborados.
Painter atendeu, esperando que Kat tivesse melhores notícias.
As primeiras palavras dela fizeram-no imediatamente perder tais esperanças.
— Temos mais um problema, diretor.
Claro que temos...
— Os serviços de espionagem acabaram de me prevenir que houve um ataque na Itália. Os pormenores ainda são vagos, mas parece que alguém lançou uma granada contra o gabinete de monsenhor Verona na universidade.
— Vigor? Ele está bem?
— Está, sim. Pu-lo à espera na linha para falar consigo. Está ainda um pouco abalado, mas a sobrinha testemunhou o ataque e tirou-o de lá são e salvo. Ele insiste em falar consigo... e julgo que também queira ouvi-lo.
Painter estava sobrecarregado de trabalho, mas devia a monsenhor esta cortesia. — Falo já com ele.
Kat fez a ligação e ouviu-se a familiar voz de tenor do padre.
— Grazie, diretor Crowe. — Tendo em conta o que sucedera, Vigor parecia surpreendentemente calmo. Mas ele era um velhote resistente. — Sei que está ocupado, mas quero chamar-lhe a atenção para um problema grave.
— Que se passa?
— Para ser direto e falar com toda a franqueza, creio que o mundo está a chegar a um ponto crítico.
Painter sentiu a ponta de um arrepio.
— Porque diz isso?
Vigor mencionou então a misteriosa embalagem enviada por um falecido colega arqueólogo: uma caveira e um livro encadernado em pele humana. Falou depois acerca de bruxas húngaras, relíquias talmúdicas mágicas e uma mensagem escrita suplicando a salvação.
À medida que a história continuava, o arrepio ia desaparecendo. Até ele se sentir de novo aliviado. Isto nada tinha que ver com o que Painter testemunhara no centro espacial.
Vigor prosseguiu.
— Suspeito agora que, depois do ataque, o meu colega, o padre Josip, se refugiou algures. O que ele procura chamou certamente a atenção de um grupo violento que deseja impedi-lo de revelar ao mundo o que sabe. Pediu que eu fosse ter com ele à Ásia Central, perto do mar de Aral. Esperava que você pudesse oferecer-nos apoio no terreno... sobretudo porque temos pouco tempo.
Painter teria muito prazer em ajudar, mas considerando o que tinha de enfrentar, não poderia justificar uma deslocação de efetivos.
— Lamento...
Kat interrompeu a comunicação.
— Monsenhor Vigor, julgo que deveria explicar ao diretor Crowe porque acha que há pouco tempo.
— Mi dispiace — desculpou-se o padre. — Pensei que já o tinha feito. Mas percebo agora que só lhe disse a si, capitã Bryant.
— Dizer-me o quê? — perguntou Painter.
— A inscrição no crânio a suplicar salvação... Trata-se de uma súplica para o mundo não acabar.
— Já tinha dito isso.
— Sim, mas esquecime de mencionar quando, de acordo com a profecia, será o fim do mundo.
Painter sentiu novamente o arrepio a subir pela espinha acima.
— Deixe-me adivinhar — disse. — Dentro de quatro dias.
— Sì — respondeu Vigor, surpreendido. — Como sabe?
De momento, Painter absteve-se de explicar e pediu a Kat para reter de novo a chamada de monsenhor enquanto ele e a comandante adjunta falavam em privado.
— Qual é a sua opinião? — perguntou a Kat.
— Acho intrigante que a data da profecia seja a mesma dada pelo Space and Missiles Systems Center.
Pelos vistos, Kat já estava a par da notícia. Não havia motivo para ele ficar surpreendido. Reunir informação desse género era a especialidade dela. Nada lhe escapava.
— Mas não se trata de mera coincidência? — perguntou Painter. — Vamos desviar recursos para o que pode vir a transformar-se numa louca caça aos gambozinos?
— Nesse caso, estou suficientemente interessada para dizer sim. Não se usariam tantos recursos quanto isso. As coordenadas fornecidas por monsenhor Verona indicam a Ásia Central e encontram-se ao longo da rota de Washington para a Mongólia. A nossa equipa sediada nos EUA poderá facilmente fazer uma curta escala no mar de Aral para investigar este mistério. Não nos atrasaria muito. E, além disso, ainda tenho de lançar assistência de paraquedas na Mongólia. Entretanto, podemos enviar uma segunda equipa que esteja mais próxima para reconhecimento da área.
— Está a falar de Gray, Kowalski e Seichan?
Ela anuiu.
— São apenas algumas horas de Hong Kong a Ulan Bator, a capital da Mongólia.
— Parece que andou a matutar nisto tudo. Mas devo preveni-la de que pode haver um terceiro membro na equipa dos EUA — Lançou um olhar a Jada. — Uma civil que me convenceu que a sua especialidade pode ser necessária.
— Não há problema. Dou grande valor à ajuda da doutora Shaw.
Ele sorriu. Como de costume, Kat tinha lido os seus pensamentos.
— Há mais uma vantagem em fazer este desvio — prosseguiu ela. — A circunstância de trabalharmos com monsenhor e o seu misterioso colega proporciona-nos uma cobertura perfeita para fazer uma busca na área estritamente protegida de Khan Khentii.
— Pois claro — anuiu Painter com a cabeça, satisfeito por Kat se mostrar tão expedita. — Podem fazer-se passar por uma equipa de arqueologia.
— Exatamente. Sobretudo se monsenhor se arriscar a ir à Mongólia connosco... Temos um objetivo comum.
Salvar o mundo...
— Então vamos lá dar andamento a isto — propôs Painter. — Telefone a Gray e ponha a equipa dele a mexer.
Kat suspirou, irritada.
— O problema é que não consigo contactá-lo.
4
18 DE NOVEMBRO, 02H02, CST
MACAU, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA O Casino Lisboa tinha-se tornado o ponto zero da Terceira Guerra Mundial.
Ou, pelo menos, era o que parecia a Gray do interior da sala VIP. No corredor, os iniciais tiros dispersos tinham-se transformado num autêntico tiroteio.
Outras explosões ecoavam ao longe.
No interior da sala, o doutor Hwan Pak estava encolhido a um canto. O seu contentamento pela traição cometida era agora terror. Algo no seu plano falhara. A emboscada da tríade Duàn Zhi não surtira efeito. Ao princípio, Gray tinha esperança de que fosse a segurança do hotel que se opunha ao ataque, mas como a intensidade do combate aumentava, acabou por chegar à conclusão que se tratava de uma guerra territorial entre gangues.
E, pelos vistos, nós somos o primeiro prémio.
Gray sabia que aquela situação não duraria para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém ganharia. O tiro de uma caçadeira que abriu um buraco do tamanho de um punho na porta provou que não se enganara.
— É agora ou nunca, Kowalski! — gritou Gray.
— Tenta fazer isto quando as calças te estiverem a cair!
O grandalhão agachou-se no meio da sala enquanto Gray e Seichan se mantinham de costas viradas para o sofá, usando-o para se protegerem.
Kowalski tinha tirado o cinto e pusera-o em círculo no chão, segurando um rádio recetor com a fivela. Kowalski era o perito em explosivos da Sigma. Como não podiam correr o risco de trazer armas para a China, viajara com um ás na manga. Ou, neste caso, enrolado no cinto.
O cordão explosivo fora desenvolvido pela DARPA. Estava selado num tubo de grafeno de carbono, o que impossibilitava a sua deteção em aeroportos.
— Está tudo pronto — avisou Kowalski, rolando no chão para se juntar a eles e arrastando uma cadeira atrás de si.
— O que estão a fazer? — gritou-lhes Pak.
Os três amontoaram-se por trás da cadeira.
— Fogo! — berrou o grandalhão, pressionando o transmissor que tinha na mão.
A explosão fez estremecer a sala, retinindo no interior da cabeça de Gray como um sino de igreja. O tiroteio lá fora parou durante uns instantes.
— Vamos! — gritou Gray, afastando a cadeira.
Rezou para que o cordão explosivo tivesse feito o seu trabalho. Caso contrário, estavam em maus lençóis. Tinham usado os únicos explosivos que Kowalski possuía.
À frente deles, a carpete a arder brilhava por entre o fumo. Havia uma cratera no soalho — ou, antes, através do soalho. As treliças de aço maiores estavam intactas, mas a explosão abrira uma passagem entre elas.
Gray olhou para aqueles destroços. Sabia que o terceiro andar tinha uma configuração quase idêntica à do quarto. Felizmente, a sala VIP por baixo deles estava vazia.
Quando os tiros recomeçaram, ainda mais furiosos, no corredor, Gray fez sinal a Seichan para passar primeiro. Ela esgueirou-se por entre as treliças e saltou agilmente para o andar de baixo.
Gray e Kowalski prepararam-se para a seguir, mas Hwan Pak tentou intervir, suplicando-lhes que o levassem com eles. Kowalski empurrou-o com uma mão, como se enxotasse uma mosca, quebrando-lhe uns ossos. Pak caiu para trás, aterrando de costas com o nariz a sangrar.
Momentos mais tarde, Gray e Seichan encontravam-se à porta do terceiro andar. Kowalski aterrou pesadamente atrás deles.
— Parece não haver ninguém lá fora — disse Seichan, encostando a orelha à porta. — Mas temos de nos despachar. O nosso ardil não vai durar muito tempo.
— Temos de sair desta zona de guerra — avisou Gray. — O problema é que todas as saídas do hotel estão guardadas.
— Talvez haja uma maneira.
Seichan abriu a porta, meteu a cabeça de fora e saiu para o corredor.
— E que tal dizer-nos que maneira é essa? — resmungou Kowalski, seguindo-a acompanhado de Gray.
Seichan precipitou-se para as escadas de incêndio — mas foi intercetada por um dos bandidos armados que descia os degraus dois a dois.
Seichan baixou-se e, com um golpe, fê-lo passar por cima dela.
Gray, que estava uns passos atrás, girou e pregou um pontapé no queixo do homem, que tombou, inerte, no chão.
— Lembrem-me para nunca os irritar — disse Kowalski.
Gray tirou a arma ao membro da tríade, uma espingarda automática AK-47.
Revistou-o a seguir rapidamente e encontrou uma pistola Red Star do exército chinês metida num coldre. Passou-a a Kowalski.
— Já estamos no Natal? — indagou este, verificando eficazmente a arma.
— Vamos embora! — insistiu Seichan, lançando um olhar cauteloso ao andar de baixo.
Gray juntou-se a ela de espingarda em punho e ambos desceram apressadamente as escadas aos pulos. Ouvia-se menos tiros, mas, ao chegarem ao primeiro andar, viram a porta de saída a abrir. Tanto lhe fazendo que fosse alguém a procurar refúgio ou novos reforços, Gray desatou aos tiros à porta.
A qual tornou rapidamente a ser fechada.
Um tiro de pistola soou atrás deles quando Kowalski disparou para cima a fim de desencorajar quem quer que os seguia.
Seichan ignorou a porta do primeiro andar e continuou a descer em direção à cave. Gray estava a par da existência de um enorme centro comercial por baixo do casino. O lugar também era conhecido pelo número de prostitutas que o frequentava e daí ser conhecido como Mercado das Putas.
Seichan chegou à cave e abriu uma fresta para espreitar lá para dentro.
Comparada com a algazarra que reinava lá em cima, estava sinistramente tranquila.
— Como pensei — disse em voz baixa. — Todas as lojas estão fechadas.
Os donos tinham-se provavelmente trancado no interior assim que o tiroteio começara.
Gray começava a fazer uma vaga ideia do plano de Seichan. As saídas públicas estavam certamente guardadas por homens armados, mas ninguém devia vigiar as rampas e portas do supermercado. A exemplo de Seichan, as tríades sabiam que as lojas encerravam para impedir que os seus produtos fossem roubados.
Portanto, como esperava ela...?
Seichan despiu o casaco e rasgou a blusa de seda, expondo um sutiã preto e a curva lisa da barriga. Puxou a fralda da camisa para fora das calças de ganga e despenteou-se.
— Que tal estou? — perguntou.
Gray estava sem fala — e, excecionalmente, Kowalski também.
Ela revirou os olhos e saiu porta fora.
— Aguentem até eu arranjar alguém que abra uma porta de emergência.
Gray ocupou o lugar dela à porta.
Kowalski deu-lhe uma palmada no ombro.
— És um filho da mãe cheio de sorte, Pierce.
Gray não ousou contrariá-lo.
02h14
Ju-long Delgado amaldiçoou a sua pouca sorte.
Estava diante do ecrã de plasma, no seu gabinete, a olhar para o fumegante buraco aberto no soalho da sala VIP. Queria culpar o cometa por tal azar, mas não era supersticioso. Conhecia a razão do seu infortúnio.
Tinha simplesmente subestimado a presa.
Isso não iria suceder duas vezes.
Há alguns instantes, tinha visto o maior dos dois homens detonar um dispositivo — e não pudera fazer mais nada senão ficar a vê-los escapar-se, como ratos, pelo buraco abaixo.
O único indivíduo que lá permanecia estava encolhido a um canto.
O doutor Hwan Pak.
Enquanto observava o cientista norte-coreano, Ju-long tamborilava com um dedo na borda da arca portuguesa por baixo da televisão, passando mentalmente em revista várias possibilidades e refletindo sobre cada uma das opções para escolher a mais vantajosa.
Escolheu uma delas.
Pouco antes, Ju-long tinha tentado avisar Tomaz da fuga dos alvos, mas não conseguira encontrar ninguém. Imaginava que a troca de tiros continuasse em todos os andares do casino. Tinha sido ele próprio quem desencadeara essa guerra e, por conseguinte, não podia criticar que Tomaz estivesse totalmente concentrado nela.
Premiu um botão do telefone e, logo que o atenderam, deu uma ordem brusca.
— Tragam o meu carro.
Alguém bateu suavemente à porta enquanto esperava. Virou-se no momento em que ela se abriu e uma pequena figura de roupão de seda e pantufas entrava. Era uma visão de pele bronzeada envolta em cabelos cor de mel. Aproximou-se dele, amparando o ventre inchado com uma mão.
— Natalia, minha querida, devias estar na cama.
— O teu filho não me deixa — respondeu com um sorriso meigo e um olhar convidativo. — Talvez se o pai se deitasse ao meu lado...
— Quem me dera poder fazê-lo, mas primeiro tenho de tratar de uns negócios.
Ela fez beicinho.
Ju-long ajoelhou-se e beijou o ventre onde o filho dormia em paz.
— Volto já — prometeu a ambos, dando-lhe um beijo de despedida na face ao acompanhá-la até à porta.
Desejava verdadeiramente fazer-lhe companhia — mas tinha aprendido em criança ao colo do pai que, em guerra ou negócios, uma pessoa tinha por vezes de sujar as mãos.
02h16
Seichan tinha a impressão de que as paredes se fechavam à sua roda.
Quanto mais tempo permanecessem no interior do casino, menos possibilidades teriam de escapar.
Tirou partido desse desespero para se precipitar na cave do centro comercial. Coxeando ligeiramente e manifestando grande aflição, fingiu ser uma das prostitutas habituais apanhada no meio do incêndio.
Pôs-se a andar às voltas, puxando o cabelo e pedindo socorro em cantonês.
As lágrimas rolavam-lhe pelas faces abaixo enquanto corria de uma porta a outra, suplicando que a ajudassem.
Percebeu que, como em tantos outros lugares deste género, havia uma relação tácita entre os donos das lojas e as prostitutas que costumavam passear-se por ali.
Os benefícios comerciais eram mútuos, As lojas atraíam eventuais clientes enquanto ela servia de engodo para angariar potenciais compradores.
O grande ciclo da vida.
Contava que essa cumplicidade protegesse ambas as partes. Ao chegar ao setor de produtos alimentares, ajoelhou-se contra a cerca de aço e, com ar assustado e perdido, pôs-se a gemer.
Conforme esperava, os seus gritos acabaram por chamar a atenção de alguém. Um velhote com um avental sujo aproximou-se timidamente, mandando-a embora com um gesto.
Mas, em vez de lhe obedecer, Seichan agarrou-se à cerca numa representação dramática de desespero e súplicas.
Percebendo que ela não sairia dali, o homenzinho olhou à volta para verificar que não havia mais ninguém e só então se atreveu a içar o portão de correr.
Assim que ele começou a levantar a chapa de aço, Seichan fez discretamente sinal a Gray e Kowalski.
A porta das escadas atrás dela abriu-se e botas pesadas desataram a correr na sua direção.
Arregalando os olhos, o homenzinho tentou baixar novamente o portão, mas Seichan impediu-o com um braço.
Gray deslizou por baixo da cerca e Kowalski imitou-o, rolando como um barril e indo esbarrar contra uns caixotes de laranjas.
Gray apontou a arma ao velho.
— Tranque o portão — ordenou-lhe Seichan, desembaraçando-se da sua personagem como se fosse uma pele de serpente.
O dono da loja apressou-se a obedecer.
—Explica-lhe que não queremos fazer-lhe mal — pediu Gray a Seichan.
Seichan traduziu, mas a sua expressão dura e a frieza do seu olhar não pareceram convencê-lo. Ela interrogou-o brevemente e depois virou-se para Gray.
— A saída do armazém é por aqui — disse, indicando-lhes o caminho.
Ao atravessar o mercado, passaram por um longo balcão com caixotes de fruta e legumes. Do outro lado, havia peixe, tartarugas, rãs e mariscos dentro de tanques com água.
Ao chegar ao outro lado, deram com uma rampa de cimento que ia ter a um portão utilizado por camiões de entrega. À esquerda, havia uma pequena porta de serviço.
Satisfeito por se ver livre deles, o proprietário abriu-a e viu-os desaparecer noite dentro.
Empunhando a espingarda, Gray foi o primeiro a sair.
Seichan seguiu-o por uma estreita viela.
Ouviam-se sirenes vindas de todas as direções e veículos da polícia cercavam o Casino Lisboa, mas a multidão que assistia ao festival à volta do lago Nam Van e as ruas vizinhas continuava a impedir uma resposta rápida por parte das autoridades.
Cá fora, a maior parte das pessoas que se divertiam não dava conta da guerra entre gangues. O fogo de artifício explodia por cima das águas do lago, refletindo-se por entre as lanternas acesas a flutuar. Mais próximo, no casino Wynn, os repuxos de água que se elevavam de uma enorme fonte dançavam ao ritmo da música dos Beatles.
— E agora? — perguntou Kowalski aos berros.
— Temos de sair rapidamente daqui — disse Gray, caminhando em direção ao lago. — Mas vai ser difícil encontrar um táxi e não é lá muito provável que consigamos misturar-nos com a multidão.
— Eu cá consigo — disse Seichan.
Fechou a blusa rasgada cruzando-a sobre o peito e enfiando as pontas dentro dos jeans.
— Vocês ficam aqui — ordenou. — Tentem passar despercebidos até eu voltar.
02h28
Gray manteve-se à entrada da viela sem nunca desviar os olhos da multidão.
Kowalski deixou-se ficar mais no fundo para se certificar de que ninguém os atacaria pela retaguarda.
Entretanto, tinham trocado de armas. O casaco comprido do grandalhão dissimulava melhor a AK-47 e Gray guardou a pistola encostada à coxa, virando o corpo para melhor a esconder.
O guinchar das sirenes tornou-se mais estridente.
À direita, a área em torno do lago ainda estava cheia de foliões, mas à esquerda as ruas já estavam mais vazias — as pessoas iam para casa ou enfiavam-se num dos muitos casinos ou bares que havia por aquelas bandas.
Os pedestres começavam a dispersar como pombos assustados.
De repente, o barulho de um motor sobressaiu da cacofonia de música e vozes e surgiu uma motocicleta montada por uma figura familiar. Era Seichan que conduzia desajeitadamente por entre a multidão, confiando que as pessoas se afastassem do seu caminho.
Gray reparou que não se tratava de uma motocicleta, mas de um riquexó. Já os tinha visto a percorrer as ruas. Em Macau, cidade densamente povoada, eram muito mais práticos do que carros.
Mas não quando se era perseguido por tríades hostis.
Seichan travou ao pé deles.
— Entrem depressa e baixem-se!
Sem escolha, os dois homens subiram. Gray sentia-se exposto e Kowalski, ciente do seu físico conspícuo, tentou afundar-se no casacão.
— Mas que péssima ideia! — rosnou.
Uma vez sentados, Seichan arrancou, contornando o lago Nam Van e afastando-se do Casino Lisboa.
— Foi o melhor que consegui arranjar! — desculpou-se ela aos berros. — As estradas da cidade estão bloqueadas!
Gray percebeu que se estavam a afastar do terminal do ferry.
— Mas para onde vamos?
— Para ali — respondeu ela, apontando para a ilha de Taipa, que estava ligada a Macau por uma ponte profusamente iluminada. — Há um terminal mais pequeno do outro lado, perto do Hotel Veneziano. É pouco provável que nos procurem lá. Sei que o último barco parte daqui a vinte minutos.
E temos de o apanhar.
Era como se tivessem alvos pintados nas costas. Macau estava a tornar-se demasiado perigoso.
Gray agachou-se no assento quando Seichan acelerou em direção à ponte.
Serpenteava no meio do tráfego, passando por entre bicicletas e peões quando era necessário.
Ao chegar à ponte, a distância até à ilha era uma reta de três quilómetros.
Havia um engarrafamento à entrada da ponte, mas isso não abrandou Seichan.
Avançaram a ritmo vertiginoso, serpenteando e esquivando-se. De ambos os lados, as águas iluminadas pelo luar do delta do rio das Pérolas cintilavam com milhares de lanternas a flutuar, espalhando-se pelo mar fora, espelhando as estrelas do céu.
Em frente, a ilha de Taipa brilhava com luzes de néon, espetáculo barato comparado com a beleza do lugar.
Atravessaram a ponte em menos de dez minutos e viraram em direção das ruas estreitas diante do terminal.
Mas, mal tinham percorrido vinte metros, um maciço Cadillac Escalade saiu de uma viela à direita e chocou com o riquexó, que rodopiou e foi bater com força contra um muro da praia.
Gray e Kowalski voaram pelos ares.
Acabaram por cair na areia. Gray conseguiu manter a pistola na mão e, ainda deitado de costas, apontou-a ao Cadillac, que, atravessado no meio da estrada, bloqueava o tráfego.
Uma mistura de chineses e portugueses saiu do carro, mas não começaram a disparar pois o muro impedia um tiro certeiro. Espalharam-se para a esquerda.
E só então Gray reparou que Seichan não estava por ali.
Ajoelhou-se com o coração a palpitar e disparou. Acertou no braço de um dos assaltantes, mas os três tiros seguintes falharam. Viu então Seichan no meio deles, com o rosto ensanguentado, a ser arrastada para o Cadillac.
Praguejou e baixou a arma com receio de lhe acertar.
O inimigo não se mostrou tão reticente.
E a areia à volta dos joelhos de Gray começou a ser salpicada de balas.
A uns passos, Kowalski conseguiu finalmente libertar a AK-47 e, segurando-a com um braço, metralhou o muro, fazendo recuar um par de atiradores.
Apontou com o outro braço para a ponte. Tinham de se abrigar.
Na praia, eram alvos fáceis.
Correram para lá. Gray disparou à toa na direção do Cadillac. Imperturbável às balas que ricocheteavam contra as janelas blindadas, um homem alto de barba mantinha-se ao lado da viatura. Agarrou em Seichan e meteu-a no banco de trás.
As portas fecharam-se e, com um guincho dos pneus, o Cadillac arrancou, deixando uns quantos atiradores por ali. Mas, entretanto, Gray e Kowalski tinham conseguido chegar à parte de baixo da ponte.
— Eu bem te disse que isto era má ideia — grunhiu Kowalski.
— Continua a andar.
Tinham de dar cabo dos atiradores deixados nas redondezas. Ao chegar ao outro lado, Gray trepou o muro da praia.
E, aproveitando o barulho do tráfego, baixou-se e atravessou a estrada. À sua esquerda, um dos atiradores esquadrinhava a praia, enquanto outro subia o muro para ter melhor ângulo de tiro.
Gray penetrou no labirinto de ruas e vielas à cunha. Kowalski seguiu-o a bufar pesadamente.
— E a Seichan? — perguntou.
— Não a mataram... pelo menos logo ali — respondeu Gray.
Graças a Deus.
Continuaram a avançar paralelos à praia e em direção ao lado oposto da ponte. As ruas estavam cheias, mas não tanto como dantes. No entanto, num mar de rostos orientais, os dois americanos sobressaíam de modo conspícuo.
Não seria difícil seguir-lhes a pista.
E, sabendo isso, não se atreviam a parar.
— Qual é o plano? — perguntou Kowalski.
Até agora, Gray tinha andado a funcionar a adrenalina pura, mas Kowalski tinha razão. Tinha de pensar numa estratégia.
Quem quer que maquinara este ataque tinha demonstrado inteligência, presumindo que eles pudessem fugir para o outro terminal. Como a ponte era o meio mais próximo de aceder à outra ilha, fora fácil preparar uma emboscada neste sítio e esperar.
— O terminal já está certamente a ser vigiado — declarou Gray, pensando em voz alta. — O que significa que temos de descobrir outra maneira de chegar a Hong Kong.
— Então e a Seichan? — insistiu Kowalski. — Vamos simplesmente abandoná-la?
— Não temos outro remédio. Se foi raptada por uma tríade, não temos armamento suficiente para a ir socorrer, mesmo que saibamos onde ela está. E
lembro-te que não podemos andar por Macau sem ser notados.
— Quer dizer, então, que temos de correr?
Por enquanto.
Gray tinha-se aproximado lenta e disfarçadamente da praia. Fez sinal com a cabeça na direção de uma marina a uns quarteirões de distância.
— Precisamos de um barco.
Misturaram-se com os foliões que ainda passeavam por ali e, ao chegarem à marina, deixaram-se discretamente ficar para trás. Lanternas decoravam a água à volta de iates e barcos a motor ancorados. Caminharam ao longo do cais até depararem com uma elegante lancha azul-escura que pertencia a um casal de meia-idade. Pelo sotaque, pareciam britânicos que se preparavam para regressar ao seu país depois do festival.
— Desculpem... — disse Gray, aproximando-se.
Os dois pararam de falar.
Gray sorriu com ar embaraçado, passando os dedos pelo cabelo como se lhe custasse admitir o que ia dizer.
— Pergunto a mim mesmo se não vão voltar para Hong Kong e não precisam da ajuda de dois tipos que acabam de perder tudo a jogar pai gow. Não temos dinheiro suficiente para um bilhete de ferry de volta a Kowloon.
O homem empertigou-se, claramente desconfiado, mas também um pouco bêbedo.
— Vocês são ianques — disse com ar menos surpreendido do que se fossem liliputianos. — Normalmente aceitaria, meus caros, mas...
Gray mostrou-lhes a pistola enquanto Kowalski afastava o casacão para eles verem a AK-47.
— E que tal agora? — indagou Gray.
O homem pareceu perder ar e foi-se abaixo.
— A minha mulher nunca me vai deixar esquecer isto.
Ela cruzou os braços.
— Eu disse que devíamos ter partido mais cedo.
O marido encolheu os ombros.
Depois de os amarrar e amordaçar a bordo de um iate que se encontrava ao lado, Gray tirou a embarcação da marina e, uma vez ao largo, acelerou em direção a Hong Kong.
Quando as luzes de Macau começaram a distanciar-se, Gray largou o leme e virou-se para o companheiro.
— Navega agora tu.
Kowalski, antigo marinheiro, substituiu-o com prazer, esfregando as mãos de contente.
— Vamos lá ver quais as habilidades que isto consegue fazer.
Tais palavras teriam normalmente preocupado Gray, mas ele tinha mais coisas em que pensar.
Aproveitando a breve folga, tirou o telefone via satélite do bolso do blusão.
Viu que havia várias mensagens do comando da Sigma. Tinha desligado o toque antes do encontro no Casino Lisboa, e desde então não tivera tempo para o ligar de novo.
Em vez de ouvir a gravação, telefonou simplesmente ao comando da Sigma em Washington. O telefone tinha um código para desencorajar os ouvidos indiscretos.
Kat Bryant atendeu imediatamente.
— Já não era sem tempo.
— Tenho andado um pouco ocupado.
Pelo tom da sua voz, ela percebeu que se passava algo de errado.
— Que aconteceu?
Gray deu-lhe uma versão abreviada do que se passara nessa noite.
Kat fez algumas perguntas para avaliar a extensão dos estragos.
— Não consigo arranjar ajuda, Gray. Com ela em poder deles, não chegaria a tempo de resolver o que quer que fosse.
— Entendido. Mas não é por isso que estou a telefonar. Quero apenas fazer um relatório da situação.
No caso de as coisas darem para o torto.
— Estamos a ter a nossa própria crise aqui — esclareceu Kat. — É por isso que estava a tentar contactar contigo. O diretor Crowe quer que tu e a tua equipa vão à Mongólia.
E resumiu-lhe o episódio de um satélite que tinha tombado e da última imagem que fotografara da Costa Leste a arder.
Mongólia?
— Não posso lá ir — disse ele quando ela terminou. — Pelo menos, neste momento.
— Claro. As circunstâncias mudaram. — O que acrescentou a seguir manifestava uma certa preocupação. — Mas o que vais fazer aí, Gray? Estás sem recursos. E as organizações criminosas em Macau são muito violentas.
— Tenho um plano.
— Qual é?
Gray olhou em direção de um distante clarão no horizonte.
— Combater o fogo com o fogo.
5
17 DE NOVEMBRO, 18H04, EST
WASHINGTON, D.C.
Jada susteve a respiração.
O que eu estou eu aqui a fazer?
Era como se tivesse passado pelo espelho de Alice.
Ao lado dela dentro do elevador, Painter Crowe pousou a mão num sensor de segurança. Uma linha azul examinou-lhe a palma da mão e o elevador começou a enfiar-se pela terra abaixo.
O jato em que tinham viajado atravessara o país em cinco horas. Depois de aterrar, tinham sido levados por um automóvel particular ao National Mall, parando no majestoso Smithsonian Castle, onde uma bandeira estava içada na torre mais alta. Ao sair do carro, ela contemplara com um novo olhar aquele edifício histórico de balaustradas, torreões e espirais em tijolo vermelho.
Finalizada em 1855, a estrutura era considerada um dos exemplos mais perfeitos do revivalismo gótico nos Estados Unidos e, atualmente, servia como o cerne dos muitos museus que constituíam o Smithsonian Institution.
Tendo crescido nas Congress Heights, uma zona pobre a sudeste de Washington, visitara o castelo inúmeras vezes em criança. A entrada era gratuita e a mãe, que a criava sozinha, encorajava a educação da filha tanto quanto podia.
— Nunca soube que havia isto cá em baixo — sussurrou Jada enquanto o elevador descia para aquele mundo subterrâneo.
— Antigamente, estes níveis eram abrigos antiatómicos e búnqueres.
Durante a Segunda Guerra Mundial até alojaram um grupo consultivo científico. Mas depois foram abandonados e esquecidos.
— Um bem imobiliário desta qualidade e em plena capital? — perguntou ela, sorrindo maliciosamente a Painter.
Ele retribuiu o sorriso. Para alguém vinte anos mais velho do que ela, era um homem bem-parecido, de cabelo escuro, com um único caracol branco e aqueles olhos azuis. Após a longa conversa durante o voo, ela também o achara extremamente esperto, com amplos conhecimentos sobre variados assuntos — exceto jazz. Mas podia perdoar-lhe esse lapso, sobretudo quando esses olhos azuis dançavam à luz do sol.
— Assim que descobri este local com acesso aos laboratórios do Smithsonian e aos centros do poder em Washington — disse ele —, percebi que era perfeito para a Sigma.
Ela percebeu o tom de orgulho paternal na voz dele: era visível que estava satisfeito por mostrar o lugar a recém-chegados, o que, segundo ela suspeitava, devia ser raro.
As portas do elevador abriram-se para um comprido corredor central.
— Este é o nível onde o comando está instalado — disse ele, mostrando o caminho. — Em frente está o nosso núcleo de comunicações, o centro nervoso da Sigma.
Ao aproximarem-se, uma mulher esbelta vestida com a farda azul da Marinha saiu de uma sala para os receber. Era bonita de um modo duro, talvez ainda mais austero pelo cabelo castanho-arruivado cortado curto. Jada também julgou distinguir ligeiras cicatrizes nas faces dela, mas conteve-se e não a olhou fixamente.
— Diretor Crowe — disse a mulher. — É um prazer voltar a vê-lo.
— Capitã Kathryn Bryant, a minha comandante adjunta — apresentou Painter.
— Trate-me por Kat. — Apertou a mão de Jada com firmeza, mas o sorriso caloroso atenuou a energia da saudação. — Seja bem-vinda, doutora Shaw.
Jada humedeceu os lábios, ansiosa por se familiarizar com este mundo, mas sabia que tinham pouco tempo.
— Como está tudo a correr? — inquiriu Painter. — Gostaria que esta equipa estivesse pronta em menos de uma hora.
— Teve notícias do comandante Pierce? — perguntou ela, conduzindo-os à sala de comunicações. O espaço oval era pequeno, dominado por uma bancada curva de monitores e interfaces de computador.
— Tive. Se for necessário, trabalharemos à volta dele. Suponho que vai dar-lhe todo o apoio de que ele necessita.
Kat lançou-lhe um olhar fulminante, indicando que era isso mesmo que pretendia fazer. Sentou-se numa cadeira diante dos monitores, como um piloto agarrado ao leme.
— Quanto ao itinerário para esta missão, monsenhor Verona e a sobrinha vão tomar o primeiro avião que sai de Roma de manhã com destino ao Cazaquistão. O voo deles demora cinco horas. Se cumprirmos o horário aqui e partirmos dentro de uma hora, aterraremos mais ou menos ao mesmo tempo que os Veronas... a meio da tarde, hora local do Cazaquistão.
Jada franziu a testa. Tratava-se de uma parte da expedição que, para ela, não fazia sentido.
— Segundo compreendo — disse, desejando ser esclarecida. — Vamos apanhar essa gente para justificar a reivindicação de que a nossa busca nas remotas montanhas da Mongólia é arqueológica.
— Exatamente — disse Kat.
— Mas também empregaremos o que resta desse dia no Cazaquistão para investigar um enigma que pode ou não estar relacionado com a atual ameaça. Se nada acontecer, prosseguimos viagem.
Painter tinha sucintamente falado do crânio e do livro, mas ela, não tendo dado muito crédito a essa história, mal tinha ouvido. Não tinha que ver consigo.
— E quem mais fará parte da expedição? — perguntou Jada.
A resposta ecoou atrás dela.
— Eu, por exemplo.
Virou-se e deu com um homem uns centímetros mais baixo do que ela, mas forte como um pit bull. Vestia calças de treino, uma T-shirt e um boné de basebol dos Washington Redskins que não chegava a esconder a sua cabeça perfeitamente lisa. A sua reação inicial foi não fazer caso do indivíduo, mas reparou no brilho inteligente e divertido dos seus olhos escuros.
Embora não soubesse explicar porquê, simpatizou de imediato com ele, como se se tratasse de um irmão mais velho meio destravado.
Mas, pelos vistos, não era a única a sentir-se assim.
Kat Bryant recostou-se na cadeira e o estranho veio beijá-la na boca.
Okay, talvez não um irmão.
Quando o homem se endireitou, Kat lançou um olhar a Jada.
— Ele tratará bem de si.
— Ela tem de dizer isso porque é minha mulher — comentou ele com uma mão carinhosamente pousada no ombro dela.
Jada notou então que a sua outra mão era uma prótese ligada ao pulso por um punho eletrónico. Era tão autêntica que ela quase não reparou.
Painter fez um sinal com a cabeça na direção do recém-chegado.
— Monk Kokkalis é um dos melhores agentes da Sigma.
— Um dos melhores? — repetiu ele com uma expressão magoada.
Painter ignorou-o.
— Será também acompanhada por um dos nossos membros mais recentes.
A sua especialidade é a engenharia eletrotécnica e a física. Também sabe bastante sobre astronomia e possui uns quantos, digamos assim, talentos únicos.
Acho que o vão considerar um elemento excelente.
— Chama-se Duncan Wren — explicou Kat.
— A propósito, onde está ele? — perguntou Painter. — Pedi a toda a gente que viesse a esta reunião.
Kat trocou um olhar com o marido e depois virou-se para os monitores.
— Já lhe dei todas as instruções necessárias — resmungou. — Teve de ir a uma consulta médica antes de partir.
Painter franziu o sobrolho.
— Que consulta médica?
18h18
— Não te mexas — avisou-o.
Duncan equilibrou o seu metro e oitenta e cinco numa pequena cadeira de lona com uma perna ligeiramente mais curta.
— Seria mais fácil, Clyde, se tomasses em consideração que nem todos os teus pacientes são escanzelados viciados em metanfetaminas.
O amigo, diante dele, tinha uma máscara cirúrgica e um par de lentes no rosto. Clyde tinha aspeto de quem devia pesar mais de cinquenta quilos molhado, sendo a maior parte cabelo penteado num longo rabo de cavalo que lhe caía pelas costas abaixo.
Clyde agarrou na manápula de Duncan pousada em cima da mesa, como se fosse ler-lhe a sina. Mas, em vez disso, fez um pequeno corte com o bisturi junto da ponta do indicador esquerdo de Duncan. Uma dor lancinante percorreu-lhe o pulso, mas ele manteve a mão quieta na mesa de metal.
Clyde pousou o bisturi.
— Esta parte a seguir pode doer.
Dizes tu...
Pegando numa pinça esterilizada, o amigo examinou o corte. Cada vez que o aço tocava nos nervos, a dor fazia ranger os dentes de Duncan. Este fechou os olhos, dominando a respiração.
— Já está! — exclamou o seu torcionário.
Duncan abriu os olhos e viu a minúscula esfera preta, do tamanho de um grão de arroz, que o médico acabara de extrair.
Era uma partícula de íman do grupo das terras raras.
— Agora substitui esse aí por um novo...
Utilizando a mesma pinça, Clyde tirou um íman de entre os que Duncan tinha fornecido. Os ímanes eram oferta da DARPA em New Brunswick, mas o seu uso corrente não era definitivamente autorizado pelo seu laboratório.
A esfera do tamanho de um grão de arroz — revestida por Duncan com Parylene C para impedir infeções — foi introduzida na ferida. Uma vez no seu lugar, umas gotas de cola cirúrgica fecharam o corte, selando o íman por baixo da pele, ao lado dos nervos somatossensoriais responsáveis pela perceção à pressão, temperatura e dor das pontas dos dedos.
Estava certamente a ter efeito sobre esta última sensação.
— Obrigado, Clyde.
Duncan abriu e fechou o punho para atenuar o latejar pós-cirúrgico. Esta não era a sua primeira vez. Todos os seus dez dedos tinham ímanes inseridos, e de vez em quando era necessário substituí-los.
— Como te sentes?
Clyde baixou a máscara, revelando um cravo de metal espetado no septo nasal e um grosso anel de aço enfiado no lábio inferior.
Não era um médico típico.
Na verdade, esta personagem tinha sido higienista dentário numa outra vida.
Na sua nova profissão exercida num armazém perto do Aeroporto Ronald Reagan, era o melhor triturador da comunidade local de bioentalhes, um tipo que concebia e instalava intensificadores corporais.
Clyde preferia a designação de artista evolucionário.
Uma data de outras profissões partilhavam aquele espaço industrial, cada uma separada por cortinas de plástico opacas: um perito em tatuagens que desenvolveu uma tinta luminescente, um outro que inseriu pedacinhos de joias no branco do olho de um cliente, mais outro que implantou clipes de identificação por frequência de rádio em coisas tão fáceis de usar como fichas de armazenagem.
Apesar de a maior parte dos clientes virem aqui pela novidade e a emoção, um punhado deles transformou os bioentalhes numa nova religião e o armazém na sua igreja. Para Duncan, era simplesmente uma questão de necessidade profissional. Como engenheiro eletrotécnico, considerava esta técnica particular uma nova ferramenta útil, uma nova maneira de perceber o mundo.
— Queres experimentar o novo íman?
— Se calhar ainda dói, mas deixa-me ver o que esculpiste.
Sabia que era isso que Clyde queria realmente mostrar-lhe.
O cirurgião fez-lhe sinal para se aproximar de uma mesa vizinha ligada com placas de circuito, bobinas de fios elétricos expostos e pilhas de discos rígidos com várias alturas.
— Ainda estou a afinar a minha última obra artística.
— Liga-a.
Clyde rodou o interruptor.
— Demora uns segundos a produzir completamente o campo eletromagnético que criei.
— Acho que posso esperar esse tempo todo.
Ao contrário do que se julgava, os ímanes nas pontas dos seus dedos não conseguiam atrair moedas nem desmagnetizar cartões de crédito. Até mesmo nos aeroportos, as máquinas de triagem não conseguiam captá-los. Mas vibravam na presença de um campo eletromagnético. Essas pequenas oscilações eram suficientes para excitar as extremidades dos nervos nas pontas dos dedos e produzir uma sensação muito diferente do tato, quase um sexto sentido.
Com prática, tinha descoberto que os campos eletromagnéticos desencadeavam uma variedade de sensações, cada uma única e diferente em dimensão, forma e força. Bolhas palpáveis rodeavam os transformadores de energia. Os micro-ondas lançavam ondas rítmicas que lhe empurravam as mãos.
Fios de alta tensão pulsavam com uma energia sedosa, como se passasse as pontas dos dedos pela pele macia de uma serpente ondulante.
Como engenheiro eletrotécnico, também usava os ímanes com objetivos mais práticos. O seu sexto sentido detetava o nível de energia nos cabos ou sabia se um disco rígido estava a funcionar como devia num computador portátil.
Uma vez, tinha-o até usado para diagnosticar um problema com a tampa do distribuidor do seu Mustang Cobra R de 1995.
Após descobrir a enorme complexidade deste mundo eletromagnético oculto, não quis outra coisa. Sem os ímanes, era como se fosse cego.
— Já deve estar pronto — disse Clyde, esbracejando sobre a mesa com dispositivos elétricos cuidadosamente manipulados.
Duncan levantou as mãos sobre a mesa. A energia produzida pela montagem de Clyde parecia empurrar-lhe os dedos, proporcionando uma táctil sensação de forma. Passou os dedos magnéticos pela superfície, descobrindo a forma artisticamente esculpida por Clyde mediante uma criteriosa colocação de hardware e fluxo de corrente.
Sentia asas de energia a espalharem-se para ambos os lados. Quanto mais ele baixasse os dedos, mais estes aqueciam, chegando a arder quando os aproximava da superfície da mesa.
As pontas dos dedos davam forma e substância ao invisível e uma imagem começou a desenvolver-se na memória visual, tão real como uma escultura.
— Incrível — murmurou Duncan.
— Chamo a esta peça Fénix a Renascer das Cinzas da Idade Digital.
— Sempre poeta, Clyde.
— Obrigado, Dunk.
Duncan pagou a consulta, consultou o relógio e atravessou o armazém.
Alguém da Sigma podia ter-lhe feito esta intervenção. Monk Kokkalis, com a sua experiência em medicina legal, era suficientemente hábil. Mas conhecera Clyde e os seus amigos na sua vida anterior, quando julgava que ia governar o mundo como estrela de basquetebol universitário. Os seus braços musculosos ainda estavam tatuados desde os cotovelos — e ainda usava uma pequenina tacha prateada na orelha esquerda em memória dos amigos mortos no Afeganistão durante uma escaramuça em Takur. Acabara por se alistar nos fuzileiros navais depois de a sua carreira de basquetebolista ter terminado na sequência de uma série de lesões que o afastaram, obrigando-o a abandonar a bolsa de estudos.
Aos vinte e quatro anos, já tinha cumprido seis comissões no Afeganistão, as duas últimas com as Forças de Reconhecimento dos Fuzileiros Navais, mas depois de Takur e de não se ter realistado, Painter Crowe foi bater-lhe à porta.
Tinha estudado engenharia na universidade e devia ter mostrado alguma aptidão, para ser contactado pela Sigma. Agora, após uma educação feita à pressa, tinha um diploma em física e outro em engenharia eletrotécnica — e estava à beira de partir na sua primeira missão oficial com a Sigma.
Para encontrar um satélite que caíra.
Tinha vindo a esta consulta porque queria estar completamente em forma.
Abriu e fechou o punho. A dor já estava a passar.
Ao sair do armazém, avistou dois vultos agachados ao pé do seu Mustang, o qual, para ele, era família, uma parte substancial do seu passado, uma recordação igual à da tacha enfiada na orelha. Tinha inicialmente comprado o carro em segunda mão para o irmão mais novo, no período em que acreditava que o seu futuro era uma bola cor de laranja a girar. Mas o cancro apanhou Bill aos dezoito anos, roubando-lhe para sempre o sorriso desdenhoso. O carro, contudo, ficou, cheio das boas recordações de dois irmãos com o mundo aos seus pés juntamente com lembranças mais tristes de perda, dor e despedidas feitas demasiado cedo.
Aproximou-se em bicos dos pés dos homens junto do Mustang, sentindo a raiva aumentar dentro de si, até ficar atrás deles. Ambos pareciam em palpos de aranha perante o mecanismo que ele montara para trancar o carro.
Não deram conta da sua presença até ele tossir.
Surpreendidos, um deles virou-se armado com uma barra de ferro.
Ah, sim?
Pouco depois, os dois fugiam cobertos de sangue e a coxear.
Duncan estendeu a mão para o fecho da porta e esta abriu-se antes de lhe tocar, ativando o chipe de identificação implantado na parte superior do braço, outra adição corporal como os ímanes.
Embora atribuísse todas estas alterações a necessidade profissional, sabia que, no fundo, se tratava de algo mais básico. Antes mesmo de ser abordado pela Sigma, tinha começado a modificar o corpo, tatuando-o. Sabia que tinha que ver com Billy, com a forma como morrera, o corpo destruído por células enlouquecidas. Estas modificações eram o modo de Duncan desafiar e dominar o cancro. Era a sua armadura para contrariar os caprichos do destino, em que o corpo podia virar-se contra si mesmo.
A sua primeira tatuagem foi a palma da mão de Billy. Traçou-a sobre o coração e, mais tarde, acrescentou a data da morte do irmão. Pousou muitas vezes a sua própria mão sobre essa tatuagem, perguntando de si para consigo qual fora o acaso genético que lhe poupara a sua vida e matara Billy.
O mesmo podia ser dito acerca dos amigos que não regressaram do Afeganistão, abatidos por uma bala perdida ou que tinham pisado uma mina enterrada.
Eu escapei e eles morreram.
Isto definia uma constante fundamental do universo.
O destino era um filho da mãe cruel e impiedoso.
Inflamado em partes iguais pela adrenalina e pela culpa, abriu a porta do carro, saltou lá para dentro e arrancou. Atravessou vertiginosamente os subúrbios de Washington, D.C., sem obedecer a sinais de trânsito.
No entanto, não podia fugir dos fantasmas do passado — os seus camaradas e o irmão mais novo que rira diante da morte.
Como sobrevivera, devia continuar a viver por todos eles.
Essa verdade, esse fardo de responsabilidade, aumentava de peso a cada quilómetro, a cada ano. Estava a tornar-se insuportável.
Fez a única coisa que podia.
Pisou com mais força o acelerador.
18h34
— Está com ar um pouco deprimido — disse Painter.
E porque não havia de estar?
Jada baixou os olhos para o espesso dossiê da missão pousado no seu colo.
Estava sentada no gabinete subterrâneo do diretor Crowe. Sentiu-se subitamente claustrofóbica, não tanto pela massa do Smithsonian Castle por cima da cabeça, mas por causa do peso do volume em cima dos joelhos.
E tudo o que significava.
Estava prestes a percorrer meio mundo à procura de um satélite militar caído que podia talvez conter o destino do mundo ou, pelo menos, fazer ou pôr fim à sua carreira de astrofísica.
Por conseguinte, sim, como a antiga rapariga feliz que saía todos os dias do liceu a correr e voltava para casa para não lhe baterem por ser boa aluna e gostar de ler... estou a sentir-me um pouco pressionada.
— Terá uma boa equipa — prometeu-lhe Painter. — A responsabilidade não é toda sua... nem deve permitir que o seja. Confie na sua equipa...
— Se assim o diz.
— Digo e repito.
Ela respirou fundo. O gabinete de Painter era espartano e limitava-se a uma secretária, um arquivador e um computador, mas o espaço emanava um calor familiar, como um par de confortáveis ténis todos rotos. Do arquivador elevava-se um pedaço de vidro preto em espiral que parecia uma escultura, mas era mais provavelmente uma recordação. Uma presa curva e impossivelmente longa de algum animal da selva estava pendurada na parede. Na secretária havia várias fotografias emolduradas de uma mulher.
Deve ser a noiva.
Mulher com sorte.
A sala também servia claramente como centro de comando da Sigma. Três grandes monitores estavam montados na parede à volta da sua secretária, como janelas sobre o mundo. Ou, neste caso, o universo.
Num dos ecrãs via-se em tempo real o cometa IKON; noutro, a imagem final tirada pelo satélite a cair; e o terceiro mostrava imagens ao vivo provenientes do Space and Missiles Systems Center no Oeste.
O arrastar de sapatos e vozes baixas chamou a atenção dela em direção da porta e Kat Bryant apareceu seguida por outra pessoa.
— Vejam quem eu encontrei! — exclamou Kat.
Painter levantou-se e apertou a mão a um homem alto. — Já não era sem tempo, sargento Wren!
Jada deu por si também de pé.
Isto tinha de ser outro membro da equipa. Duncan Wren. Era surpreendentemente jovem, talvez apenas dois anos mais velho do que ela.
Examinou-o. Era corpulento e tinha ar duro, e enchia a T-shirt da marinha.
Viam-se tatuagens por baixo das mangas. Mas não parecia musculoso, bem pelo contrário. Imaginou que ele corria tanto quanto ela — e Jada era rápida.
Apertou-lhe a mão, reparando nos nós dos dedos esfolados.
— Jada Shaw.
— A astrofísica? — perguntou ele.
A surpresa cintilou nos seus olhos verdes, aborrecendo-a. Ao longo da sua curta carreira, tinha visto aquela expressão vezes sem conta. A física ainda pertencia ao mundo dos homens.
Como para vê-la melhor, afastou uns caracóis de cabelo louro-escuro misturados com mechas mais claras que não eram pintadas.
— Formidável! — disse Duncan sem ponta de sarcasmo. Pôs os punhos nas ancas. — Então vamos lá desencantar o satélite.
— O jato está pronto e à espera — interveio Kat. — Eu levo-os lá.
O coração de Jada subiu-lhe à garganta. Estava tudo a acontecer tão depressa.
Como se percebesse o seu pânico, Duncan tocou-lhe no cotovelo.
Ela lembrou-se do conselho de Painter.
Confie na sua equipa.
E que tal confiar em si mesma?
Duncan inclinou-se em direção dela, os olhos enrugados de preocupação, mas também a brilhar de entusiasmo.
— Está pronta?
— É melhor que esteja.
— Que mais se pode querer, não é?
Antes de saírem, Kat contornou-os e pousou um dossiê na secretária de Painter, deixando um dedo em cima.
— O último relatório sobre o plano operacional de Gray em Hong Kong.
Crowe assentiu com um movimento de cabeça, suspirando.
— Dei uma vista de olhos no computador. Ele vai andar por sítios perigosos.
— Parece que, por Seichan, está pronto a fazê-lo.
6
18 DE NOVEMBRO, 08H04, HKT
KOWLOON, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Gray preparou-se para entrar no covil do leão.
Ou leoa, neste caso.
Estava na rua no meio da multidão à hora de ponta no bairro Mong Kok da península de Kowloon. As pessoas precipitavam-se de cabeça baixa na chuva miudinha, algumas de guarda-chuva e outras com largos chapéus de bambu.
Para onde quer que olhasse, havia movimento. Os carros avançavam lentamente pelas ruas estreitas por entre altos arranha-céus. Roupa a secar em varandas esvoaçava como bandeiras de mil nacionalidades. Multidões avançavam com dificuldade.
Até mesmo os odores mudavam a cada brisa: gordura de porco a fritar, especiarias tailandesas, o cheiro acre dos caixotes de lixo, o perfume sem viço de uma mulher a passar. Gritos ecoavam à volta dele, sobretudo pregões, atraídos pelo seu rosto branco.
Eh, patrão, olhe o preço deste fato...
Quer um relógio de marca...
A comida é muito boa, muito fresca... venha provar.
A cacofonia de Kowloon embotava os sentidos. A cidade de Nova Iorque julgava que tinha muita gente, mas era uma cidade fantasma comparada com isto. A península de Kowloon tinha metade da área que se considerava ser Hong Kong. A outra metade do outro lado de Victoria Harbour — a ilha de Hong Kong — era ocupada por mansões, sumptuosos arranha-céus e parques verdes que rodeavam o majestoso Victoria Peak.
Nesta manhã, quando o Sol ainda não nascera, Gray e Kowalski tinham atravessado as águas a bordo da lancha roubada. A silhueta da ilha de Hong Kong parecia uma versão moderna do reino de Oz, cuja capital, Esmeralda, prometia um mundo mágico onde todos os desejos eram satisfeitos pelo preço certo — o que, na verdade, também podia suceder neste lugar decadente.
Mas Gray mandara Kowalski atracar numa doca abandonada, na parte urbana mais sombria de Hong Kong. Dormiram duas horas num inconspícuo hotel enquanto aguardavam notícias de Washington. Assim que a informação chegou, Gray conduziu Kowalski à zona de prostituição em Mong Kok onde se apinhavam bordéis, bares de karaoke, saunas e restaurantes.
— Por aqui — disse Gray após consultar um mapa.
Afastaram-se do clamor da rua principal e penetraram num labirinto de vielas estreitas. Os gritos para lhes chamar a atenção diminuíram de intensidade a cada curva, sendo os convites substituídos por ameaçadores olhares de suspeita.
— Julgo que é o prédio em frente — disse Gray.
Dobrando uma última esquina numa rua estreita, chegaram a três edifícios de apartamentos com dezassete andares ligados por pontes e construções precárias numa única estrutura maciça. Lembrava uma montanha corroída mantida no acréscimo de placas onduladas, remendos de madeira e lixo. Até as varandas, ao contrário das dos prédios vizinhos, estavam seladas por trás de placas, mas roupa posta a secar pendurada em cordas esvoaçava ao vento.
— Parece uma prisão — comentou Kowalski.
E, de certo modo, talvez fosse. Na opinião de Gray, os inquilinos estavam encurralados tanto pela realidade económica como por grades — excetuando aqueles que moravam nos andares mais altos, mais próximos do sol e da brisa fresca. Era aí que a tríade Duàn Zhi habitava, segundo o relatório da Sigma.
Gray tinha vindo aqui para se encontrar com a infame cabeça de dragão da tríade.
Em Macau, o doutor Hwan Pak tinha denunciado o grupo de Gray a esta tríade e atraíra-o a esta emboscada. A sua chefe recusava mostrar o rosto e não permitia que a olhassem de muito perto. Era arriscado para ele vir aqui.
Mas não tinha escolha.
Seichan fora raptada por mão criminosa, mas ele duvidava que fosse obra da Duàn Zhi. Vislumbrara rostos europeus — provavelmente portugueses naturais da zona — por entre os que a tinham metido à força no Cadillac preto. Era sabido que as tríades chinesas desprezavam os ocidentais.
Assim, quem a levara... e para onde?
Supunha que ela estivesse viva. Podiam tê-la morto nas ruas de Macau, mas não o fizeram. Era uma esperança ténue, mas ele agarrava-se a ela com ambas as mãos.
Só havia uma maneira de obter informações sobre o rapto de Seichan. No passado, esta tríade tinha operado de Macau e, portanto, a sua chefe devia provavelmente conhecer os protagonistas mais importantes e manter ainda contactos por lá. E, fator essencial, também tinha os efetivos e os recursos de que Gray necessitaria para socorrer Seichan — e salvar assim a própria filha da cabeça de dragão.
Mas como conseguir que ela me escute antes de dar cabo de nós?
Gray virou-se para Kowalski.
— Última oportunidade para desistir. Posso entrar sozinho. Talvez seja até melhor.
Gray propusera a mesma coisa no hotel.
E obteve a mesma resposta.
— Vai-te lixar — rosnou Kowalski, dirigindo-se para a porta que se encontrava mais perto.
Gray avançou, caminhando ao seu lado. Entraram juntos por um par de portões de segurança que estavam abertos de dia, mas fechados à noite. Rostos observaram os seus passos: alguns com desconfiança, outros com ódio e a maior parte sem interesse.
Os portões conduziam a um pátio central comum aos três edifícios de apartamentos. As pontes e as oscilantes estruturas adicionais bloqueavam a luz do dia, mas deixavam entrar a chuva. Lojas improvisadas alinhavam o nível mais baixo do pátio, entre as quais um talho com patos depenados pendurados em ganchos, uma venda de álcool e tabaco e até uma que vendia doces cheia de produtos demasiado brilhantes e festivos para um lugar tão sombrio.
— As escadas ficam ali — avisou Kowalski.
O único meio para subirem parecia ser uma escadaria aberta em cimento ao lado de cada edifício. Gray não sabia ao certo qual das torres alojava a tríade Duàn Zhi ou se isso tinha importância.
Começaram, portanto, a subir a escadaria mais próxima. O plano era prosseguir até alguém tentar detê-los — de preferência uma pessoa que não disparasse primeiro e fizesse perguntas depois.
Depois de atravessar vários patamares, abandonando o setor comercial e chegando aos níveis residenciais, Gray pôs-se a olhar por várias portas abertas.
No interior dos apartamentos viam-se grandes gaiolas com rede de arame empilhadas até ao teto. Pareciam galinheiros e havia gente a morar lá dentro.
Dava claramente a impressão de ser tudo o que podiam dar-se ao luxo de ter como alojamento, mas decoravam-nas como se fossem pequeninos apartamentos. Até se viam algumas televisões acesas. De todas elas elevavam-se nuvens de fumo de cigarro, mas isso não era suficiente para atenuar o cheiro a detritos humanos.
Uma ratazana castanha e gorda desceu a correr os degraus por entre os dois homens.
— Rato esperto — murmurou Kowalski.
Ao passar pelo décimo andar, Gray reparou que havia câmaras de vigilância apontadas para as escadas.
Devia ser obra da tríade.
— Estamos bastante alto — disse finalmente Gray. — Já estão a vigiar-nos.
Ao chegarem ao andar seguinte, Gray enfiou por um corredor ao ar livre de onde se via o pátio. Pôs-se diante de uma das câmaras e, usando dois dedos, tirou lentamente a pistola Red Star do cinto, pousando-a depois aos seus pés.
Kowalski executou o mesmo ritual com a AK-47.
— Desejo falar com Guan-yin, a cabeça de dragão da Duàn Zhi! — gritou em direção à câmara e para todos os que estavam por perto.
A reação foi imediata.
Portas abriram-se com estrondo à frente e atrás deles. Quatro homens vieram ao seu encontro armados de barras de ferro e catanas.
Lá se vai a conversa.
Gray agachou-se e deu um pontapé no joelho do tipo que estava mais perto.
E, quando este tombou para a frente, aplicou-lhe um forte golpe no pescoço, deixando-o a contorcer-se sem fôlego. Recuperou a pistola enquanto se desviava do machete que passou a rasar-lhe a cabeça. Agarrou o braço do adversário e virou-o, pondo o próprio braço do homem à volta do pescoço.
Encostou-lhe o cano da pistola ao ouvido.
Atrás de Gray, Kowalski tinha arrumado o primeiro dos dois atacantes, tirando-lhe a barra de ferro das mãos quando ele caiu. Depois, acertou com um soco no ombro do segundo. O machete caiu no chão.
Kowalski manteve a barra de ferro apontada, como aviso, enquanto o homem recuava de dor agarrado ao braço.
Gray virou-se novamente para a câmara.
— Apenas desejo falar com alguém! — tornou a gritar.
E, para provar o que disse, soltou o cativo e voltou a pousar a pistola no chão. Levantou os braços bem alto, mostrando as palmas das mãos para a câmara.
Esperava que este ataque repentino fosse um teste.
Aguardou, sentindo um fio de suor correr pelas costas abaixo. O silêncio parecia ter-se abatido sobre o edifício. Até mesmo a conversa na televisão e a música ambiente mal se ouviam.
— Nenhum de vocês fala um pouco de inglês? — perguntou subitamente Kowalski.
Abriu-se uma porta ao fundo do corredor.
— Eu falo.
Uma figura saiu da sombra para o corredor. Tratava-se de um homem alto de cabelo branco penteado num rabo de cavalo. Apesar de aparentar ter uns sessenta anos, movia-se com energia sedosa a cada passo. Empunhava uma longa espada comprida, um antigo sabre dao chinês. A outra mão estava pousada na coronha de uma SIG Sauer metida num coldre.
— O que deseja dizer à nossa estimada cabeça de dragão? — perguntou.
Gray sabia que a resposta errada os mataria.
— Diga-lhe que trago uma mensagem a respeito da filha de Mai Phuong Ly.
Pela expressão vazia do homem da espada, o nome não significava nada para ele. Como reação, virou-se simplesmente e encaminhou-se com calma na direção de onde tinha vindo.
Esperaram. Um dos guardas ladrou uma ordem em cantonês e Gray e Kowalski foram obrigados a recuar uns passos para que lhes tirassem as armas.
— Isto está a ficar cada vez melhor — resmungou Kowalski.
A situação era tensa como a corda de um violino.
Por fim, o homem da espada saiu de novo da sombra para os enfrentar.
— Ela concordou benevolamente vê-los — disse.
Gray deixou que o nó entre as omoplatas relaxasse ligeiramente.
— Mas se ela não gostar do que lhe disserem — preveniu-os o homem da espada. — O seu rosto será a última coisa que hão de ver.
Gray não teve dúvidas quanto a isso.
08h44
Seichan despertou no meio da escuridão.
Permaneceu imóvel. O seu instinto de sobrevivência datava dos anos que tinha passado nas ruas de Banguecoque e de Phnom Penh. Esperou que a tontura lhe passasse. A memória escorreu lentamente de um poço escuro.
Tinham-na agarrado, drogado e vendado. Pela dor que sentia nos músculos, também devia ter as mãos e os tornozelos amarrados. Ainda tinha a venda, mas passava suficiente luz pelo pano para se perceber que era dia.
Mas era o mesmo dia em que fora apanhada?
Reviu o choque. Gray e Kowalski a voar pelos ares.
Teriam sobrevivido?
Recusava pensar o contrário.
O desespero enfraquecia a determinação — e ela iria necessitar de toda a tenacidade para sobreviver. Procurou orientar-se por entre os sentidos confusos.
Estava deitada sobre uma superfície dura, metálica, a cheirar a óleo de motor.
Vibrações e ocasionais solavancos revelavam que estava no interior de um veículo.
Talvez uma carrinha ou um camião.
Mas para onde a levavam?
Porque não a matarem muito simplesmente?
Encontrou facilmente a resposta. Alguém devia estar ao corrente da recompensa paga pela sua captura, alguém que tencionava vendê-la.
— Já pode deixar de fingir que está a dormir. — A voz vinha de muito perto.
Sentiu-se interiormente contrariada. Os seus sentidos tinham sido apurados pelas duras ruas e becos da sua juventude. E, no entanto, não dera conta de que havia uma pessoa sentada tão perto dela. Enervou-a. Não apenas o seu silêncio, mas a total ausência. Como se não existisse.
— Primeiro, descontraia — continuou o homem em cantonês formal e perfeito, mas com ligeiro sotaque europeu. Uma vez que se encontravam em Macau, era provavelmente português.
— Não tencionamos matá-la nem sequer fazer-lhe mal. Pelo menos, eu não tenciono. Trata-se meramente de uma transação comercial.
Não se enganara, portanto, em achar que a queriam vender e lucrar com o negócio. Mas não era uma grande consolação.
— Segundo, quanto aos seus amigos...
Desta vez, ela não estremeceu. Pensou no rosto de Gray e na fanfarronice de Kowalski. Estariam ainda vivos?
O homem soltou um risinho de troça.
— Estão vivos — disse, lendo-a como um livro. — Mas apenas por agora.
Levámos algum tempo a seguir-lhes a pista... acabando por vir a descobri-los num lugar inesperado... a casa de um concorrente. O que me deixou espantado, a perguntar a mim mesmo porquê. Mas então percebi que não tinha importância. Há um antigo provérbio chinês... yi jian shuang diao. Creio que se aplica a estas circunstâncias.
Seichan traduziu mentalmente.
Uma seta, dois abutres.
A inferência gelou-a. A frase chinesa era equivalente a uma expressão mais comum.
Matar dois coelhos de uma cajadada só.
08h58
O elevador abriu-se, libertando-os do inferno e trazendo-os para o céu.
Gray seguiu o homem da espada pelo que devia outrora ter sido o luxuoso apartamento do último andar. Todo o espaço era aberto e estava mobilado com móveis de linhas simples. O chão era de bambu polido e havia vasos de orquídeas de todos os tons e formas por toda a sala. Um aquário curvo, como uma onda, continha numeroso peixes brancos como a neve e separava a sala de estar de uma cozinha apetrechada com utensílios inoxidáveis de estilo europeu.
Mas a grande diferença quanto ao ambiente infernal dos andares de baixo era a luz. Até mesmo o dia chuvoso e sombrio não conseguia retirar-lhe a intensidade. Enormes janelas abriam-se sobre Kowloon e encontravam-se suficientemente alto para se avistar as brilhantes torres da cidade de Hong Kong. O centro do apartamento era ocupado por um átrio com paredes de vidro e sem teto onde havia uma fonte, plantas e flores que rodeavam um lago de peixes com lírios flutuantes.
Uma única lanterna chinesa balançava também na água.
Uma silhueta esbelta vestida com uma túnica cintada debruçava-se sobre o lago a acender uma nova vela na lanterna em forma de lótus.
Gray pensou no festival em Macau com milhares de luzes, cada uma delas em memória de um ente querido.
Gray foi conduzido em direção ao átrio, enquanto Kowalski olhava com ar de poucos amigos para trás.
— Porque subimos a pé catorze andares se eles têm elevador?
O seu uso devia ser limitado aos membros da tríade, mas Gray não se deu ao trabalho de explicar e manteve-se atento à figura por trás das paredes de vidro.
O homem da espada deteve-se a uns metros da entrada para o átrio.
— Fiquem de pé.
A mulher — pois era evidente pelos seus pequeninos pés descalços e a curva da anca que se tratava de uma mulher — permaneceu debruçada diante da lanterna com as mãos em concha à volta do incenso a arder.
Ninguém falou durante uns dois minutos. Kowalski remexeu-se, mas teve o bom senso de se manter calado.
A mulher curvou-se por fim numa respeitosa vénia em direção do lago e depois endireitou-se. O capuz da túnica emoldurava-lhe o rosto, protegendo-a dos chuviscos. Atravessou o átrio e abriu lentamente a porta de correr.
E saiu com graciosidade para o exterior.
— Guan-yin — entoou o homem da espada, baixando a cabeça.
— M’h’ goi, Zhuang.
Uma mão deslizou da manga e tocou no antebraço do homem da espada, um gesto estranhamente íntimo.
A seguir, a cabeça de dragão da Duàn Zhi virou-se para Gray.
— Falas de Mai Phuong Ly — disse em voz baixa e calma mas com o gume de aço de uma ameaça. — Vens falar de alguém que morreu há muito tempo.
— Não na memória da sua filha.
A mulher manteve-se imperturbável, demonstrando o seu poder de domínio. Após uma longa pausa, a sua voz voltou ainda mais tranquila.
— Falas de novo de uma morta.
— Ainda há umas horas, ela esteve à procura da mãe em Macau.
A única reação de Guan-yin foi baixar ligeiramente o queixo, dando provavelmente conta de como estivera perto de matar a própria filha. Agora, talvez perguntasse a si mesma se ele estava a falar verdade.
— Eras tu quem estava no Casino Lisboa.
Gray fez um gesto em direção de Kowalski.
— Nós os três. O doutor Hwan Pak reconheceu o seu pendente em forma de dragão e disse que a conhecia. Viemos, por conseguinte, a Macau para descobrir a verdade.
Ela soltou uma pequena fungadela de escárnio.
— Mas que é a verdade? — perguntou.
Dúvida e incredulidade perpassaram na sua voz.
— Posso...? — inquiriu Gray, apontando para o bolso do blusão onde estava o telemóvel.
— Devagar — preveniu Zhuang.
Gray tirou o telemóvel e procurou, por entre as fotografias de Seichan, uma em que se visse o seu rosto com nitidez. Ao revê-la agora, sentiu receio pela segurança dela, mas a sua mão não tremeu quando mostrou a fotografia como prova.
Guan-yin inclinou-se para a frente, mas as suas feições meio ocultas na sombra tornavam impossível ler a expressão que ostentava. No entanto, Gray tinha notado que ela tropeçara ao aproximar-se e interpretou isso como sinal de esperança, prova de que tinha reconhecido a filha. Mesmo depois de vinte anos, uma mãe reconheceria sempre a filha.
Gray tentou passar-lhe o telemóvel para as mãos.
— Há mais fotografias... Pode vê-las.
Guan-yin estendeu a mão, mas os dedos hesitaram, com medo da verdade.
Se a filha ainda estivesse viva, sentir-se-ia culpada por tê-la abandonado.
Por fim, agarrou no telemóvel e virou-se de costas enquanto procurava mais fotografias. Um longo silêncio — e, a seguir, a mulher estremeceu e tombou de joelhos no soalho de bambu.
Zhuang moveu-se com tal rapidez que Gray mal notou. Ainda há pouco encontrava-se ao seu lado... e, de repente, estava ajoelhado ao lado de Guan-yin com o sabre apontado para eles, avisando-os para não se mexerem.
— É ela — sussurrou Guan-yin. — Como é possível?
Gray não conseguia imaginar as emoções que deviam debater-se no seio dela: culpa, vergonha, esperança, alegria, medo, raiva.
As duas últimas ganharam quando a mulher rapidamente se recompôs, erguendo-se e virando-se para eles. Zhuang postou-se ao seu lado — mas pelo seu olhar inquieto era evidente que a necessidade de a proteger era superior ao seu dever profissional.
Guan-yin tirou o capuz, revelando uma cascata de cabelo negro com uma única madeixa grisalha que tombava ao longo de um lado do rosto — face essa marcada pela curva de uma profunda cicatriz. Ia da maçã do rosto à sobrancelha esquerda, poupando-lhe o olho, e era demasiado retorcida para ser um ferimento recebido numa luta de faca. Alguém tinha retalhado propositadamente o seu rosto, era a recordação de uma antiga e dolorosa tortura. Mas como para tornar essa cicatriz uma medalha honrosa — talvez até tirar proveito desse sofrimento — ela tinha o rosto tatuado, incorporando a cicatriz e transformando-a na cauda do dragão que figurava na sua face.
Rivalizava de modo inquietante com a tatuagem de uma serpente prateada no pescoço.
— Onde está ela agora? — perguntou Guan-yin em voz alta, revelando novamente a têmpera do aço de que era feita. — Onde está a minha filha?
Gray recompôs-se do choque sentido ao ver o rosto dela e relatou o rapto de Seichan em plena rua.
— Fala-me do homem que viste ao lado do carro — pediu-lhe Guan-yin.
Gray descreveu o homem alto e forte de barba curta.
— Parecia português. Talvez fosse mestiço.
Ela assentiu com um movimento de cabeça.
— Sei muito bem quem ele é. Chama-se Ju-long Delgado e é o dono de Macau.
Uma sombra de inquietação alterou-lhe as feições.
Preocupação manifestada por uma mulher destas era mau sinal.
09h18
A viatura parou com um queixume dos pneus.
Seichan ouviu o homem falar com o motorista em português, mas não compreendia a língua. Portas abriram-se e fecharam-se com estrondo.
Uma mão estendeu-se para o seu rosto. Ela debateu-se, mas os dedos tiraram-lhe simplesmente a venda. A luminosidade repentina fê-la pestanejar.
— Acalme-se — disse o seu raptor. — Ainda temos um longo caminho pela frente.
O homem estava vestido de modo elegante, com um fato de seda feito por medida. Os olhos castanhos combinavam com o cabelo comprido e barba aparada. Os olhos, ligeiramente descaídos nos cantos, revelavam a sua herança luso-chinesa.
Seichan lançou um olhar à sua volta e percebeu que estava estendida no chão de uma carrinha.
A porta de trás abriu-se e a luz brilhante voltou a ferir-lhe a vista. Viu outro homem no exterior: mais jovem, um rosto liso abrutalhado, cabelo preto cortado curto e ombros largos que mal cabiam no casaco do fato. Tinha impressionantes olhos de um azul frio.
— Tomaz — chamou-o o que parecia ser o chefe. — Estamos prontos para o voo?
— Sim, senhor Delgado. O avião já está à nossa espera.
O homem chamado Delgado virou-se para ela.
— Vou fazer-lhe companhia neste voo — disse. — Para me certificar de que receberei total compensação. Mas também acho que é uma boa altura para não ficar em Macau. Depois do que está prestes a suceder em Hong Kong, as consequências serão sangrentas durante muito tempo.
— Para onde me leva?
Ignorando-a, ele saiu da carrinha e espreguiçou-se.
— Vai ser um belo dia.
O subalterno, Tomaz, puxou-a para fora da carrinha, para a luz do sol da manhã, pegando depois numa faca e cortando as cordas amarradas em volta dos tornozelos. Deixou-a, contudo, de mãos atadas atrás das costas.
Foi posta bruscamente de pé e viu que se encontrava numa remota pista aérea. Um jacto estava pousado a trinta metros deles com as escadas descidas, pronto a receber os passageiros. Uma figura surgiu no umbral da porta.
Uma ligadura cobria-lhe o nariz partido.
O doutor Hwan Pak.
— Ah! O nosso benfeitor... — Delgado encaminhou-se para o jacto, consultado o Rolex no pulso. — Venha. Daqui a uns minutos, não vamos querer estar perto de Hong Kong.
09h22
— É tudo o que sabes?
A mágoa materna ecoou na voz de Guan-yin. Há vários minutos que interrogava intensamente Gray, sondando o passado de Seichan e tentando compreender como a filha podia ainda estar viva.
Estavam agora sentados num dos sofás.
Zhuang mantinha-se de guarda ao lado dela. Kowalski examinava o aquário de nariz achatado contra o vidro.
Gray desejava poder dar mais informações a Guan-yin, mas nem mesmo ele estava a par de toda a vida de Seichan, conhecia apenas fragmentos, alguns orfanatos que frequentara, a vida nas ruas, o seu recrutamento numa organização criminosa. Guan-yin parecia compreender esse passado que Gray relatava. De certo modo, a mãe e a filha seguiram caminhos paralelos, endurecidas pelas circunstâncias, mas tinham conseguido sobreviver e prosperar.
Por fim, Gray percebeu que não conseguia fazer um retrato suficientemente pormenorizado para satisfazer uma mãe que desconhecia tanto da vida da filha.
— Hei de encontrá-la — jurou Guan-yin a si mesma.
Já tinha dado ordem para que se descobrisse para onde Ju-long Delgado tinha levado Seichan. Aguardava agora uma resposta.
— Não a ajudei no passado — disse Guan-yin, limpando com um dedo uma lágrima que rolava do olho do dragão tatuado. — Os vietnamitas que me interrogaram eram cruéis, ainda mais cruéis do que eu então julgava, e disseram-me que a minha filha tinha morrido.
— Para a desanimar e a tornar mais fraca.
— Mas isso só me fez sentir mais raiva, mais decidida a fugir e a vingar-me, o que acabou por acontecer. — Uma labareda brilhou na sua expressão perturbada. — Procurei-a por toda a parte, mas nessa altura era difícil. Depois da minha fuga, não ousei voltar ao Vietname e acabei por desistir.
— Doía muito continuar à procura — comentou ele.
— Por vezes, a esperança é a sua própria maldição. — Guan-yin olhou para as mãos cruzadas no colo. — Foi mais fácil enterrá-la no meu coração.
Instalou-se um longo silêncio, marcado pelo pingar da fonte no átrio.
— E tu? — perguntou Guan-yin em voz fraca. — Correste muitos perigos para a trazer aqui, para vir ter comigo.
Gray não precisou de o admitir em voz alta.
Ela ergueu o rosto e olhou-o nos olhos.
— É porque a amas?
Gray fitou aquele olhar e percebeu que não podia mentir. Foi então que a primeira explosão abanou o edifício.
A torre oscilou e a água chapinhou no aquário. As orquídeas de haste longa balançaram.
— Que raio...? — barafustou Kowalski.
Guan-yin pôs-se de pé.
E a sombra dela, Zhuang, movendo-se para junto das janelas, já falava rapidamente ao telefone. Fumo vindo de baixo elevava-se por entre a chuva.
Ouviu-se uma segunda explosão, um pouco mais distante.
Guan-yin seguiu o seu lugar-tenente, arrastando Gray e Kowalski com ela.
— Camiões de cimento vindos de todas as direções ao mesmo tempo — traduziu ela a conversa de Zhuang. — Estão parados diante de todas as entradas.
Gray imaginou esses enormes veículos a atravessar os estreitos desfiladeiros que rodeavam esta montanha e a convergir num assalto coordenado. Mas não eram camiões de cimento...
Mais outra explosão vinda de outra direção.
... eram bombas sobre rodas.
Alguém pretendia arrasar este sítio e Gray sabia quem era: Ju-long Delgado.
Devia ter descoberto que Gray e Kowalski tinham vindo aqui. Os seus rostos pálidos davam nas vistas por estas bandas.
— Temos de sair daqui imediatamente! — gritou Gray.
Zhuang concordou e virou-se para Guan-yin.
— Temos de te levar para um lugar seguro.
Mas ela resistiu, empertigando-se. E a sua expressão zangada realçou a tatuagem do dragão.
— Mobilizem a tríade — ordenou ela. — E tentem salvar o maior número de residentes possível.
Gray pensou na massa humana alojada lá em baixo.
— Utilizem os túneis subterrâneos — acrescentou Guan-yin.
Era evidente que a tríade tinha passagens secretas para entrar e sair desta autêntica fortaleza.
— Vocês têm de ser os primeiros a partir — insistiu Zhuang.
— Assim que deres essa ordem.
Parecia que este capitão estava preparado para ir ao fundo com o navio dela — e a verdade é que este estava prestes a afundar-se. Estrondos e rangidos ecoavam por toda a parte. O véu de fumo preto cobria agora toda a parede com janelas, como se fosse movido para cima pelos gritos abafados dos andares de baixo.
Zhuang gritava agora ao telefone para ser ouvido e, pouco depois, os altifalantes espalhavam a ordem da cabeça de dragão para toda a gente.
E só então Guan-yin acalmou.
Zhuang afastou-a sensatamente dos elevadores e conduziu-a por umas portas duplas pelas mesmas escadas que eles tinham subido.
— Despachem-se! Temos de chegar aos túneis!
Desceram à pressa. A confusão reinava no pátio central. Havia vários incêndios. Uma secção da ponte que unia toda aquela estrutura tinha desmoronado, fazendo cair um punhado de gente. Os andares do edifício de apartamentos em frente começaram a implodir, um por um, acabando por se soltar das outras torres.
Gray corria agora mais depressa, saltando de andar em andar. Com Zhuang ao seu lado, Guan-yin acompanhava-o ao mesmo ritmo enquanto Kowalski, um pouco atrás, os seguia.
Um ruído sinistro abalou as escadas, atirando-os ao chão.
Toda a escadaria começou a separar-se da torre.
— Por aqui! — berrou Gray, saltando dos degraus por cima do espaço vazio e alcançando o corredor exterior da torre. Os outros seguiram-no. Guan-yin tropeçou e ficou para trás, cambaleando à beira do abismo, mas Kowalski pegou nela ao colo e saltou.
— Obrigada — agradeceu-lhe ela quando ele a pousou.
— Nunca chegaremos aos túneis — disse Gray.
Ninguém contestou e todos aceitaram o lúgubre vaticínio. Envolto em fumo, o fogo alastrava furiosamente pelo pátio, alimentado por tudo o que constantemente caía lá de cima.
— Então para onde vamos? — perguntou Kowalski. — Ainda estamos no décimo andar e eu esquecime de trazer asas.
Gray deu-lhe uma palmada no ombro, apreciando a sugestão. — Temos então de as fazer nós mesmos. — Virou-se para Zhuang. — Leva-nos até ao apartamento mais próximo.
O homem da espada obedeceu, conduzindo-os apressadamente pelo labirinto interior da torre. Por fim, apontou para uma porta.
Gray tentou abri-la, mas estava trancada. Recuou um passo e deu um pontapé na fechadura. A porta de madeira ofereceu pouca resistência e acabou por se abrir.
— Lá para dentro! — gritou. — Procurem lençóis, roupa, panos, tudo o que possa ser atado para fazer uma corda.
Deixou esta tarefa a cargo de Kowalski e Guan-yin.
E, acompanhado por Zhuang, atravessou o apartamento e dirigiu-se para a varanda, a qual, a exemplo das outras, estava fechada por um gradeamento.
— Ajuda-me — pediu Gray, começando a arrancar as grades.
Enquanto trabalhavam afincadamente, a torre abanava, desintegrando-se a pouco e pouco, devorada pelo fogo.
Por fim, Gray conseguiu soltar uma peça do gradeamento e esta tombou, por entre o fumo, na rua.
— Já arranjaram uma corda? — perguntou para o interior do apartamento.
— Nunca conseguiremos fazer uma coisa tão comprida que chegue ao chão!
— respondeu Kowalski.
O plano, contudo, não era esse.
Gray entrou para verificar o trabalho. Os panos atados uns aos outros por Guan-yin e Kowalski tinham um comprimento de vinte metros. A torre estremeceu ainda mais, ajudando-o a tomar uma decisão.
— É suficiente!
Gray amarrou uma ponta ao corrimão da varanda e lançou a outra ponta para a rua.
— Que estás a fazer? — perguntou Kowalski.
Gray apontou para as varandas abertas do prédio em frente, do outro lado da rua estreita.
— Tu estás mas é maluco — barafustou Kowalski.
Ninguém o contrariou.
Olhando para baixo, Gray perguntou novamente a si mesmo como tinham os camiões de cimento passado por vielas tão estreitas para aqui chegar. Mas, ao mesmo tempo, agradeceu em silêncio aos urbanistas de Hong Kong terem permitido tais construções em Kowloon.
Gray subiu para o corrimão, agarrou-se à corda improvisada e, sustendo a respiração, começou a descer a pulso. O coração batia com mais força sempre que as mãos escorregavam, mas ele mantinha os olhos fitos na distância que o separava do edifício vizinho, avaliando a extensão de corda de que necessitaria.
Satisfeito, mudou de posição, deixando a corda balançar. Ao passar pelas varandas de baixo por entre o fumo, sentia os olhos a arder, mas encostava o pé ao gradeamento de uma varanda e impulsionava o corpo. Começou então a mover-se para a frente e para trás, afastando-se da torre e aproximando-se do prédio vizinho.
Mas não o suficiente.
Pôs-se a balançar ainda mais. O fumo asfixiava-o, mas ele não parava.
Por fim, os dedos dos pés tocaram na varanda distante. Não tinha espaço suficiente para tomar balanço, mas o contacto aumentou a sua determinação.
Voltou a balançar para trás e desatou depois a correr pelas varandas molhadas pela chuva.
Vá lá...
— Pierce! — chamou-o Kowalski. — Olha para baixo!
Gray espreitou por baixo das pernas enquanto corria. A ponta da corda tinha pegado fogo e as chamas subiam na sua direção.
Oh, não...
Desta vez, sentindo o ímpeto diminuir, pontapeou com força o gradeamento da última varanda que conseguia alcançar, tentando ganhar mais uns metros, e lançou-se sabendo que era a sua última oportunidade.
Depois, deixou-se ir.
A gravidade arrastou-o ao longo da fachada da torre em chamas e por cima da rua. Esperneou. Estava a ser projetado na direção da varanda do prédio em frente. Levantou as pernas para não chocar contra o gradeamento, e conseguiu enganchar-se ao corrimão de cima.
O alívio percorreu todo o seu ser.
Nesse momento de distração, escorregou e perdeu o equilíbrio. Só os calcanhares presos no corrimão o impediram de cair. Ficou ali suspenso, sabendo que aquela situação não podia prolongar-se.
As chamas continuavam a subir pela ponta da corda acima.
De súbito, foi agarrado pelos tornozelos.
Olhou e viu um casal, marido e mulher, os donos do apartamento, a segurá-
lo, puxando-o para a varanda. Ergueu-se e apagou as chamas da corda, tornando a amarrar depois a ponta ao corrimão mais alto enquanto o casal falava com ele em cantonês, ralhando certamente com ele por um ato tão imprudente, como se se tratasse de uma brincadeira.
Logo que a corda ficou segura — ou, pelo menos, tão segura quanto possível — chamou os companheiros.
— Um de cada vez! Agarrem-se com as mãos e as pernas!
Guan-yin foi a primeira a descer, movendo-se agilmente como uma ginasta.
Agradeceu ao casal com uma vénia. Zhuang, com a espada presa à volta do peito, veio a seguir.
Kowalski foi o último. Fez o percurso a praguejar e, aparentemente, os deuses não apreciaram a blasfémia pois, a meio, a corda partiu-se, precipitando-o no vazio.
Gray assistiu àquilo horrorizado, sem saber o que fazer.
Por sorte, quando a folga da corda acabou Kowalski foi projetado de cabeça numa varanda três andares abaixo, derrubando um grupo de espectadores ali reunidos.
Ouviu-se uma grande gritaria.
— Estás bem? — gritou Gray, debruçando-se sobre o corrimão.
— Da próxima vez, és tu o último! — berrou Kowalski.
Zhuang envolveu carinhosamente o rosto da amante num lenço carmesim de seda para a ocultar novamente do mundo. E a seguir, ela virou-se para Gray.
— Devo-te a vida.
— Mas muitos outros perderam-na.
Ela assentiu e ambos ficaram a observar os danos causados pelo ataque. Do outro lado, a montanha enferrujada sucumbia lentamente aos incêndios, desintegrando-se e transformando-se numa ruína.
Atrás deles, Zhuang falava ao telefone, provavelmente para se inteirar dos estragos. Passado um minuto, voltou para junto da amante. Falaram um com o outro de cabeça baixa e, quando o lugar-tenente recuou, Guan-yin virou-se para Gray.
— O Zhuang teve notícias de Macau — disse-lhe.
Gray sentiu-se imediatamente tenso.
— A minha filha ainda está viva.
Graças a Deus.
— Mas o Ju-long levou-a para fora da península, para fora da China.
— Para onde...?
O lenço não conseguiu abafar o tremor na sua voz.
— Para a Coreia do Norte.
Gray pensou nesse país recluso, uma terra de ninguém isolada, de macabra desolação e loucura ditatorial, um lugar rigorosamente vigiado, de fronteiras impenetráveis.
— Só um exército conseguirá tirá-la de lá — murmurou ele.
Sem dúvida que Guan-yin o ouviu, mas disse: — Não chegaste a responder à pergunta que te fiz antes.
Ele encarou-a, deparando apenas com uma mãe aterrorizada a olhar para ele.
— Amas a minha filha?
Gray não podia mentir, mas o receio embargava-lhe a voz. Ela leu, contudo, a resposta nos olhos dele e afastou-se.
— Então, dar-te-ei esse exército.
SEGUNDA PARTE
SANTOS & PECADORES
7
18 DE NOVEMBRO, 13H34, ORAT
AKTAU, CAZAQUISTÃO
— Parece o oceano.
Monsenhor Vigor Verona remexeu-se ao ouvir as palavras da sobrinha.
Ergueu o nariz do relatório de ADN. Lia e relia aqueles papéis com a impressão de que lhe escapava algo de importante. Os resultados do laboratório tinham sido enviados por faxe pouco antes do voo de manhã cedo para a cidade portuária do Cazaquistão mais a ocidente.
Respirou fundo e fez um esforço para voltar ao presente. Precisava de uma folga. Se desanuviar a cabeça, talvez descubra o que me aflige.
Ele e Rachel estavam sentados num pequeno restaurante sobre o mar Cáspio. As ondas invernais abatiam-se contra as falésias brancas que haviam dado o nome à cidade de Aktau. A equipa da Sigma tinha combinado encontrar-se com eles ali em menos de uma hora. E fretariam depois um helicóptero para o sítio das coordenadas que o padre Josip inscrevera no interior do crânio.
— Outrora, o mar Cáspio era na verdade um oceano — disse Vigor. — Há cinco milhões de anos. É por isso que ainda é salgado, embora possua apenas um terço da salinidade dos oceanos atuais. Mas depois foi rodeado por terra e secou, tornando-se o mar Cáspio, o mar Negro... e para onde vamos depois, o mar de Aral.
— Não é que reste muito mar no mar de Aral — interrompeu Rachel com um sorriso. Tinha trocado a farda dos carabinieri por uma camisola de gola alta vermelha, calças de ganga e botas.
— Ah, mas a culpa não é da geologia. É do homem. O mar de Aral tinha o tamanho da Irlanda e era o quarto maior lago do mundo. Mas na década de sessenta os soviéticos desviaram os seus dois rios principais para irrigação e o mar secou, perdendo noventa por cento de água e tornando-se salgado... É
agora uma extensão tóxica pontilhada por cascos enferrujados de velhos barcos de pesca.
— Não estás a vender lá muito bem esta nossa próxima excursão turística.
— No entanto, o padre Josip acha esse lugar importante. De outro modo, por que razão quereria que fôssemos lá?
— À parte a razão de ter enlouquecido? Há quase dez anos que desapareceu...
— Talvez. O diretor Crowe, contudo, tem suficiente confiança neste projeto para nos dar apoio no terreno.
Ela recostou-se e cruzou os braços, manifestando o seu descontentamento.
Desde o assalto sofrido na universidade que Rachel era contra esta ideia e até tinha ameaçado prender o tio para o manter em Roma. Ele sabia que o único motivo para estarem ali sentados à beira do Cáspio era a ajuda condicional da Sigma.
No entanto, Crowe não tinha explicado, nem a Vigor nem a Rachel, porque concordara em ajudá-los e isso inquietava-os. O diretor tinha apenas adiantado que talvez precisasse depois da ajuda deles numa missão a ser levada a cabo numa área restrita da Mongólia.
A Mongólia...
Isso intrigava-o.
Os olhos dele pousaram-se novamente no relatório do ADN sobre as relíquias — o crânio e o livro — mas Rachel estendeu a mão e afastou os papéis.
— Não, tio. Andas há horas a olhar para eles, cada vez mais frustrado. Quero que te concentres no que temos pela frente.
— Está bem, mas deixa-me então desabafar. Sinto que me escapa algo de importante.
Ela acedeu com um encolher de ombros.
— De acordo com o primeiro relatório do laboratório, o ADN é compatível com uma etnia da Ásia Oriental.
— Já mencionaste isso. A pele e o crânio pertencem ao mesmo indivíduo, alguém do Extremo Oriente.
— Certo, mas com o estudo autossómico enviado por faxe esta noite, o laboratório comparou a nossa amostra com as de várias etnias conhecidas e, daí, fez uma lista das principais... Chineses han, buriates, daures, cazaques...
— Referes-te aos habitantes do Cazaquistão — interrompeu Rachel.
— Exatamente. Mas no topo da lista figuram os mongóis.
Ela endireitou-se na cadeira.
— Para onde a equipa do Painter quer que nós vamos.
— Foi isso que me chamou a atenção. Há uma conexão que me escapa.
— Então vamos recapitular — disse ela. — O Crowe explicou exatamente para onde a equipa está a planear ir, na Mongólia?
— Algures para as montanhas a nordeste da capital... as montanhas Khan Khentii.
— Que é uma área interdita...
Ele anuiu com um movimento de cabeça.
— Porquê?
— É uma reserva natural e tem igualmente importância histórica.
— Porquê histórica?
Vigor abriu a boca para responder — e então pensou numa possibilidade assustadora e deteve-se. Por uns instantes, esse discernimento invadiu de tal modo o seu cérebro que deixou de ver à sua volta.
— Tio... — murmurou Rachel, assustada.
A visão voltou-lhe e ele reconheceu o erro que tinha cometido.
— Andava a olhar para as árvores e não via a floresta...
Levou a mão ao bolso e tirou o telemóvel. Marcou o número do laboratório e pediu para falar com o doutor Conti. Logo que o investigador atendeu, ele disse-lhe o que precisava de fazer para confirmar o seu receio. Levou algum tempo a convencê-lo, mas o doutor Conti acabou por concordar.
— Verifique os marcadores do cromossoma Y — pediu Vigor. — E telefone-me para este número assim que puder.
— Que se passa? — perguntou Rachel quando ele desligou.
— As montanhas Khan Khentii... São sagradas para os mongóis porque conta-se que o túmulo perdido do seu maior herói está escondido nos seus cumes.
Rachel era suficientemente culta para conhecer a identidade do herói.
— Gengis Khan?
Vigor aquiesceu.
— O conquistador mongol que forjou um império do Pacífico às águas que vês pela janela.
Rachel lançou um olhar para o exterior.
— Não julgas que o crânio...
— Foi o que pedi ao doutor Conti para confirmar...
— Mas como pode ele fazer uma coisa dessas?
— Há uns anos, um estudo genético bem documentado indicava que um entre duzentos homens no mundo possui o mesmo cromossoma Y, um cromossoma com uma série de marcadores distintos que fazem remontar a sua origem à Mongólia. Essa proporção aumentou para um em dez nas regiões que, antigamente, faziam parte do império mongol. Esse estudo concluía que este supercromossoma Y provinha de um indivíduo, alguém que vivera há cerca de mil anos na Mongólia.
— Gengis Khan?
Vigor assentiu.
— Quem mais podia ser? Gengis e os seus parentes masculinos mais chegados tinham várias mulheres e ainda mais filhos como resultado das múltiplas violações. Conquistaram metade do mundo conhecido.
— E espalharam o seu cunho genético.
— Cunho esse que podemos verificar. Os marcadores do cromossoma Y são bem conhecidos dos geneticistas e fáceis de comparar com a nossa amostra.
— É isso que o doutor Conti está a fazer agora mesmo?
— Afiançou-me que teria os resultados quase imediatamente, pois a sequência de ADN da nossa amostra já tinha sido completada.
— Mas se tiveres razão e os marcadores combinarem, que nos diz isso? Já me explicaste que há muitos homens que possuem este cromossoma Y.
— Sim, mas Gengis Khan morreu em 1227.
— Século XIII... — Franziu o sobrolho. — A mesma época do crânio.
Ele levantou uma sobrancelha.
— Quantos homens nessa altura tinham esse específico cromossoma?
Rachel não pareceu convencida.
Vigor insistiu.
— Depois de Gengis Khan morrer, os seus partidários massacraram a procissão fúnebre, bem como aqueles que construíram o seu túmulo e os soldados que vigiaram a construção. Ao que parece, o segredo da localização foi preservado e, apesar das buscas efetuadas até hoje, ainda não se sabe onde ele foi enterrado. O seu túmulo, segundo se diz, contém todas as riquezas das terras conquistadas.
— Deve valer a pena matar alguém pela descoberta de tal túmulo — disse Rachel, referindo-se claramente ao ataque à granada.
— Estamos a falar de um tesouro que envergonharia Tutankahmon. Os maiores tesouros do mundo daquela época entraram na Mongólia, os despojos de guerra da China, Índia, Pérsia e Rússia, e nunca mais foram vistos. Diz-se ainda que inclui as coroas dos setenta e oito soberanos que ele venceu. Sem mencionar os valiosos artefactos religiosos pilhados em inúmeras igrejas, sobretudo igrejas ortodoxas russas.
— E nada foi alguma vez encontrado?
— O mais importante para nós é que nunca encontraram o seu corpo.
Antes de Rachel poder responder, o telefone de Vigor tocou. Era o doutor Conti.
— Fiz o que me pediu, monsenhor Verona. Comparámos os vinte e cinco marcadores genéticos que constituem o haplótipo de Gengis Khan da sua amostra.
— E quantos combinam?
— Todos os vinte e cinco.
Vigor ficou exangue. Fitou a mala aos seus pés. No seu interior encontravam-se o crânio e a pele de um homem venerado como um deus pelo seu povo. Compreendia agora que alguém fosse capaz de matar para se apoderar de relíquias que poderiam conduzir à descoberta do maior tesouro do mundo.
As relíquias de Gengis Khan.
14h10
— Tinhas razão — disse Duncan. — Os nossos amigos italianos foram seguidos.
Estava com Monk Kokkalis numa churrascaria junto à praia. O sol brilhava anemicamente no mar. O dia estava frio, mas o grelhador onde carne, gordura e legumes grelhavam irradiava suficiente calor para aquecer Duncan. Baforadas de especiarias e óleos persas a arder envolviam-no, e cada rajada de vento vinda do mar fazia-lhe arder os olhos.
Depois de aterrar no Aeroporto Internacional de Aktau, tinham transportado a doutora Jada Shaw a uma pista privada onde se encontrava o helicóptero fretado. Logo que ela se instalou em segurança, Monk e Duncan tinham ido buscar os restante dois membros da equipa ao bairro à volta do porto desta pequena cidade. Duncan fora informado do ataque que tinham sofrido e Monk sugerira que se aproximassem com cautela para ter a certeza de que o padre e a sobrinha não eram seguidos desde Roma.
Se estiverem a ser seguidos, tinha dito Monk, vamos acabar com isso agora.
A precaução provou ser uma boa ideia.
E Duncan reconheceu que podia aprender umas coisas com este operacional mais experiente.
— Como queres agir? — perguntou.
Durante os vinte minutos em que vigiaram o restaurante, repararam em duas pessoas que mostravam interesse desmedido pelo par sentado à janela. O
restaurante bordejava a passagem reservada aos peões onde pessoas corriam ou andavam de bicicleta disputando o estreito espaço. Apesar de se estar em novembro, na estação baixa, ainda havia movimento e, por conseguinte, era fácil reparar em alguém que se demorasse perto do restaurante.
Um homem de cabelo preto, claramente asiático, estava sentado num banco à beira da praia. Vestia um sobretudo que lhe dava pelos joelhos e tinha as mãos enfiadas nos bolsos. Estava de costas viradas para o mar e raramente tirava os olhos do restaurante.
A outra pessoa, uma mulher, tinha o mesmo cabelo e feições do companheiro. Usava um boné preto de lã e uma versão mais curta do casaco castanho do homem. Esbelta, com maçãs do rosto salientes e olhos provocantes, não deixava de ser atraente. Estava encostada a um candeeiro do lado do restaurante.
— Vou dar um passeio pela praia e abordar o homem por trás enquanto tu te aproximas da mulher — propôs Monk. — Espera até eu lá estar e, quando fizer sinal, agarramos os dois.
— Entendido.
— Age discretamente e mantém a tua arma escondida. Vamos levá-los para o teu SUV. Interrogamo-los a caminho do aeródromo. Quero saber quem são e porque tentaram mandar os meus amigos pelos ares.
— Porque achas que estão a espiá-los em vez de os atacar?
Monk abanou a cabeça.
— Talvez por ser arriscado atacá-los em plena luz do dia. Ou então receberam ordens para os seguir e descobrir porque vieram de Roma até ao Cazaquistão. De qualquer modo, a missão deles vai terminar aqui.
Monk afastou-se, pisando a areia e caminhando despreocupadamente ao longo da praia sem olhar uma única vez para o tipo sentado no banco. Enquanto o seu parceiro avançava para o alvo, Duncan atravessou a passagem asfaltada na direção da mulher, fazendo o possível para sintonizar os seus passos com o ritmo de Monk para alcançarem os respetivos alvos ao mesmo tempo.
Era esse o plano — até o toque de uma campainha chamar a atenção de Duncan. Um ciclista fazia-lhe sinal para ele sair da frente. A alguns passos de distância, a mulher agitou-se.
Quando a bicicleta passou, a mulher continuou a andar, como se puxada pelo seu ímpeto, encaminhando-se para onde se encontrava o seu parceiro.
Infelizmente, Monk escolheu esse momento para sair da praia e dirigir-se para o banco.
Os ombros da mulher retesaram-se. Sentindo algo errado, parou. Virou-se e os seus olhos cruzaram-se imediatamente com os de Duncan. Quer fosse a expressão reveladora do seu rosto ou o facto de ele ser obviamente americano, como o outro que se dirigia para o seu cúmplice, a verdade é que ela reagiu de imediato.
Precipitando-se para o restaurante.
Ora bolas...
Duncan lançou-se atrás dela, o braço estendido, a mão segurando-a pela aba do casaco. O tecido escorregou por entre os seus dedos e um tipo que se atravessou no caminho fê-la saltar para o lado como uma corça assustada. Este incidente permitiu a Duncan agarrá-la com maior firmeza e puxá-la para si, passando o outro braço à volta do peito dela.
Pelo canto do olho, viu Monk empurrar o seu alvo quando este tentou levantar-se do banco.
Lá se vai a discrição.
O movimento de transeuntes abrandou e os poucos que restavam afastaram-se.
Duncan mudou de braço, procurando uma posição melhor, mas onde deveria sentir seios macios, encontrou contornos duros e rígidos. Ainda pior, os minúsculos ímanes implantados nas pontas dos dedos registaram uma forte corrente elétrica por baixo do casaco.
Percebeu logo por que razão a mulher tinha corrido tão depressa. Levantou-a pela cintura e atirou-a contra a areia.
— Bomba! — gritou a todos os que estavam por ali, e em particular ao seu parceiro.
Enquanto as pessoas fugiam ou se imobilizavam, paralisadas, ele correu para a janela do restaurante. Monk saltou por cima do banco, arrumando de vez o adversário com uma cotovelada no rosto, e seguiu-o.
Duncan sacou da pistola e disparou duas vezes contra a vidraça do restaurante, estilhaçando-a com o ombro ao saltar lá para dentro.
Vidros espalharam-se à volta dele como chuva tilintante quando aterrou no interior e, dando outro salto, caiu em cima dos dois italianos, protegendo-os com o corpo.
Virou-se e viu Monk mergulhar de cabeça pela janela — acompanhado por uma forte explosão.
Toda a parede com janelas explodiu, seguida por uma saraivada de pedras, areia e fumo. Monk rolou no meio de toda aquela confusão e, antes mesmo que o vidro parasse de saltitar nas mesas e nas lajes do chão, Duncan ajudou as duas pessoas à sua guarda a levantarem-se.
— Mexam-se! Vamos sair pelas traseiras!
O velhote resistiu, estendendo o braço para a mala.
Duncan pegou nela para não ter de discutir e, sentindo-se como o mais bem pago de todos os paquetes, apressou tio e sobrinha pelo fumo na direção da cozinha. E apanhou Monk no caminho. O homem sangrava de vários cortes e ainda tinha um estilhaço de vidro espetado nas costas.
Apesar de ter os ouvidos a zumbir e a cabeça a latejar, Duncan jurou mais tarde que Monk dissera: — As coisas podiam ter corrido melhor.
Atravessaram a cozinha, desviando-se de cozinheiros agachados, e saíram pela porta do fundo. Uma vez no exterior, nenhum deles abrandou o passo.
Onde havia dois bombistas suicidas, podia haver mais.
Chegaram à rua principal do bairro comercial e Duncan fez parar um táxi pondo-se diante dele.
Entraram. Monk sentou-se no banco da frente e, com o rosto ainda ensanguentado, mandou o taxista levá-los ao aeroporto. O motorista estava pálido, mas acedeu rapidamente quando Monk lhe enfiou um punhado de notas nas mãos.
Só depois de sair da cidade relaxaram. Duncan virou-se para a mulher sentada no meio do banco de trás e deu com um par de lindos olhos cor de caramelo — é claro que seriam ainda mais bonitos se ela não o fitasse com ar furioso.
— Eu sabia que nunca devíamos ter saído de Roma.
14h22
Ela não sabia o que estava aqui a fazer.
Jada estava sentada na grande cabina do Eurocopter EC175 cinzento-azulado. Apesar de não apreciar o desvio para o Cazaquistão, não podia queixar-se de falta de espaço. Tinha as pernas levantadas e estendidas sobre os assentos do lado. Cabiam facilmente doze ou mais passageiros na cabina, mas apenas cinco fariam parte do voo até ao mar de Aral. Duncan tinha explicado anteriormente que precisavam de um aparelho voador daquele tamanho para percorrer a longa distância, pois para onde iam não havia uma pista decente para se aterrar um avião.
Era tão remoto quanto isso.
Mas, pelo menos, não fico totalmente isolada do mundo.
Tinha o computador portátil aberto sobre os joelhos e revia as informações mais recentes acerca do cometa IKON. Bastava um olhar pelas janelas fumadas para se ver a sua minúscula cauda incandescente, como uma vírgula a brilhar no céu diurno. Estava sem dúvida a proporcionar um espetáculo sensacional no outro lado do mundo, onde era agora noite.
Observou no ecrã as sequências de vídeo do Alasca.
Uma chuva de meteoros atravessava a aurora boreal em listas de luz intermitente e traços prateados. Tudo isto era seguido pela trajetória da cauda do cometa; a imagem era tão nítida que se distinguia a cauda de poeira e a de gás. Um enorme meteoro atravessou o ecrã, acompanhado pela exclamação de surpresa do amador que filmava o vídeo. Parecia uma lança de fogo arremessada contra uma bola de fogo de artifício.
Jada também tinha estado em contacto com o Space and Missiles Systems Center pelo telefone por satélite codificado posto à sua disposição pelo diretor Crowe. Tinha agora o telefone ao ouvido — embora não houvesse necessidade de código para esta chamada.
— Sim, mãe, estou bem — disse. — É muito excitante estar aqui na Califórnia.
Detestava mentir à mãe, mas Painter mostrara-se inflexível.
— Estás a ver o espetáculo de luz no céu?
— Claro que estou.
Pelo menos, isso não era completamente mentira.
— Quem me dera estar aí a vê-lo contigo, minha querida — disse a mãe. — Como costumávamos fazer quando eras pequenina.
A recordação de estar estendida na relva do National Mall, a tiritar por baixo de um cobertor, a ver as chuvas das Leónidas e das Perseidas. Fora a mãe quem lhe inculcara o amor pelas estrelas, que lhe ensinara que as chuvas de meteoros anuais tinham o nome das constelações que pareciam criá-las: Leão e Perseu.
Tendo crescido num mundo onde a vida parecia modesta e precária, as estrelas lembravam-lhe um universo maior e mais cheio de possibilidades.
Como o facto de uma rapariga das Congress Heights se ter tornado astrofísica.
— Gostaria imenso de poder estar contigo. — Consultou o relógio. — É melhor ires andando, mãe. Está na hora de começares o teu turno da manhã no Holiday Mart.
— Tens razão, tens razão... Tenho de ir andando.
O orgulho ressoou pela linha, atravessando meio mundo para chegar a ela.
— Gosto muito de ti, mãe.
— Eu também gosto muito de ti, minha querida.
Jada teve pena quando o telefonema terminou, sentindo-se momentaneamente egoísta e culpada por viver esta vida.
Retendo as lágrimas, voltou ao seu trabalho. Voltou a passar a sequência da chuva de meteoros. No Space and Missiles Center, estavam ainda a tentar determinar se esta exibição espetacular era simplesmente uma coincidência ou se tinha alguma coisa que ver com a passagem do cometa IKON pelo sistema solar.
Tinha contactado com um colega para ficar a par das mais recentes conjeturas. A opinião corrente era que a passagem do cometa talvez tivesse perturbado a cintura de Kuiper, região de asteroides gelados a seguir à órbita de Neptuno, arrastando uma série de asteroides na sua esteira e arremessando-os contra a Terra. Além de conter muitos cometas de período curto, como o famoso cometa de Halley, a cintura de Kuiper tinha mais de trinta mil asteroides com diâmetro superior a cem quilómetros.
A notícia mais excitante, contudo, era a crescente convicção de que o IKON
vinha da muito mais distante nuvem de Oort, nuvem esférica formada por detritos que rodopia a um quinto da distância que nos separa da estrela mais próxima e contém os cometas de períodos longos, esses raros visitantes, como o Hale-Bopp, que passam apenas uma vez a cada quarenta e dois anos.
Os últimos cálculos sugeriam que o IKON tinha passado pela última vez pelo sistema solar há dois mil e oitocentos anos, uma visita bem antiga. Era excitante, caso fosse verdade, pois o que existia na nuvem de Oort eram os restos da nebulosa original da qual se formara todo o sistema solar, o que tornava o IKON um incandescente mensageiro desses tempos distantes que potencialmente transportava as chaves do universo.
Incluindo, possivelmente, o mistério da energia negra.
Um estrondo, seguido por um rugido surdo, fez estremecer a cabina do helicóptero. Os rotores puseram-se em funcionamento.
Que raio...
Endireitou-se no assento.
O copiloto saltou do seu lugar e abriu a porta lateral. O ruído tornou-se ensurdecedor.
O piloto inclinou-se para trás, gritando a Jada.
— Afivele o cinto de segurança! Recebi ordem para levantar rapidamente voo!
O coração dela pôs-se a bater com mais força. Fechou o computador portátil e olhou pela escotilha enquanto o copiloto fazia uma verificação final. Ao longe, uma coluna de fumo preto pairava sobre a cidade, escurecendo o céu azul.
Pouco depois, surgiu um táxi que se aproximou a toda a velocidade deles.
Avistou Monk sentado no banco da frente. Mas ele e Duncan tinham partido num SUV preto.
Que se passava?
O táxi travou com um ganido e as portas abriram-se. Viu Duncan sair do banco de trás. Um homem mais velho de casaco ligeiro e uma camisola preta com gola em V que revelava o colarinho branco de padre saiu pela outra porta traseira. Era ajudado por uma mulher jovem e pequena de cabelo curto.
Vigor e Rachel Verona.
Nenhum deles parecia contente.
Duncan tinha aberto o porta-bagagens e retirava uma única mala com rodas.
Era tudo o que tinham?
Monk estava debruçado na janela do lugar de passageiro a pagar ao taxista.
Quando se endireitou, ela viu o seu rosto ensanguentado e ficou estarrecida. O seu olhar fixou-se no fumo que, como um sinal, continuava a subir para o céu.
Sabia que as duas coisas estavam associadas.
O grupo encaminhou-se apressadamente para o helicóptero.
O mau humor de Rachel aumentava a cada passo, como se não quisesse subir a bordo. Finalmente, parou.
— Devíamos ficar aqui! — gritou, agarrando o braço do padre. — E regressar a Roma!
Jada esperava que tomassem essa decisão. Assim, poderiam partir do Cazaquistão e seguir diretamente para as montanhas a fim de procurar o satélite.
Monk abanou a cabeça.
— Já és um alvo, Rachel. Quem planeou isto tem mais recursos do que julgávamos. E há de tentar de novo.
Duncan concordou com ele.
— Foi o padre Josip quem vos meteu neste sarilho. E só ele pode safá-los.
Rachel reconheceu que ele tinha razão. Soltou o braço do tio e ambos entraram no helicóptero. Com um cumprimento de cabeça, Jada deu-lhes espaço quando eles se sentaram à sua frente, adiando uma apresentação formal para quando já estivessem no ar.
Duncan sentou-se ao lado de Jada. Ela apreciou a sua presença física, a solidez e o calor do seu corpo enquanto ele respirava profundamente, ainda estimulado pela adrenalina.
Ao afivelar o cinto, Monk inclinou-se para a frente e tocou no joelho de Jada.
— Desculpa a pressa. Não queríamos ficar encurralados em terra. As autoridades do Cazaquistão podem encerrar o espaço aéreo por causa da bomba...
Jada olhou em volta da cabina.
Onde raio me vim meter?
15h07
Quando o Eurocopter alcançou a sua altitude de cruzeiro, Duncan olhou para a paisagem lá em baixo. Com um rugido dos rotores, o helicóptero elevou-se acima do mar azul e sobrevoou um deserto cor de ferrugem, alguns arbustos, extensões brancas de sal e rochedos esculpidos pelo vento. Com exceção dos camelos e de ocasionais tendas isoladas cuja brancura contrastava com a terra sombria, esta área parecia-se com partes do Novo México.
Um puxão na manga desviou a sua atenção.
Monsenhor Verona apontava para a mala ao pé de Duncan.
— ‘Scusa, sargento Wren, pode abrir a minha mala? Quero certificar-me de que tudo está intacto depois de toda esta comoção.
Só um padre descreveria o que se tinha passado como uma comoção.
— Trate-me por Duncan, monsenhor.
— Só se me tratar por Vigor...
— Combinado.
O sargento puxou a mala com uma mão e pousou-a em cima dos joelhos.
Abriu o fecho de correr e levantou a parte superior. Deparou com roupa dobrada em torno de dois objetos embrulhados em espuma preta.
— Estou muito inquieto com o maior — disse Vigor. — É o mais frágil.
O padre fez sinal a Duncan para o desembrulhar.
O sargento depreendia qual era a preocupação do velho e, assim, sabia o que esperar. Ao tirar a parte de cima do embrulho, o crânio apareceu com a órbita vazia a fitá-lo.
— Pode passar-mo para eu o examinar, por favor?
Duncan vira muita gente morta no Afeganistão, mas a morte ainda o arrepiava. Ao seu lado, a expressão de Jada vacilava entre o interesse profissional e a repugnância.
Ultrapassando a sua aversão, Duncan estendeu ambas as mãos para agarrar no crânio, mas, antes de o alcançar, as extremidades nervosas das pontas dos dedos, estimuladas pelos minúsculos ímanes, registaram uma pressão vibrante.
Surpreendido, afastou as mãos, abanando os dedos.
— Não há nada a temer — tranquilizou-o Vigor, interpretando mal a reação do militar.
Sem prestar atenção ao monsenhor, Duncan passou os dedos por cima da calota craniana. Nunca sentira aquilo antes. Era como enfiar os dedos em gel frio carregado de eletricidade e viscoso.
— Que está a fazer? — perguntou Jada.
— O crânio está a emitir um estranho sinal eletromagnético. É muito ténue...
Jada franziu o sobrolho.
— Como... sabe?
Ele ainda nada lhe dissera acerca dos ímanes, mas agora explicou tudo a todos.
— As minhas pontas dos dedos — acrescentou ao terminar. — Estão definitivamente a captar algo proveniente deste crânio.
— Então, deveria examinar também o livro antigo — sugeriu Rachel, tirando a espuma que protegia o tomo.
A encadernação estava gasta e profundamente encarquilhada.
Duncan passou devagar as pontas dos dedos pela capa. Desta vez, teve de tocar na pele curtida para sentir a vibração. A impressão foi a mesma. Sentiu-se arrepiado.
— Ainda é mais ténue... mas é idêntica.
— Poderá tratar-se de radiação residual? — perguntou Rachel. — Desconhecemos onde estas relíquias estiveram guardadas até agora. Talvez fosse perto de uma fonte radioativa.
A testa de Jada franziu-se, não aceitando tal explicação.
— Tenho equipamento na minha mala para examinar o satélite...
Deteve-se abruptamente e lançou um olhar a Monk, percebendo como estivera perto de mencionar o objetivo da sua missão, a qual, até ao momento, não tinha sido revelado aos Veronas.
Pigarreando, continuou.
— Tenho instrumentos para verificar vários sinais de energia. Contadores Geiger, multímetros, etc. Assim que aterrarmos, poderei verificar se Duncan tem razão.
Este encolheu os ombros.
— Não sei explicar, mas a verdade é que deteto um sinal.
Vigor recostou-se no assento: — Quanto mais cedo chegarmos ao local assinalado pelo padre Josip, melhor para todos.
As palavras de monsenhor não deram lá muita confiança a Duncan. Voltou a fechar a mala e contemplou de novo a paisagem desoladora. Passados uns momentos, reparou que esfregava os dedos uns nos outros, como para se libertar da sensação viscosa. Tinha dificuldade em exprimir por palavras o que o seu sexto sentido captara.
Na falta de um termo melhor, sentia que algo estava errado.
8
18 DE NOVEMBRO, 17H28, ULAT
ULAN BATOR, MONGÓLIA
O vapor silvou ao longo dos canos alinhados na câmara subterrânea por baixo das ruas de Ulan Bator. Lanternas a óleo iluminavam com um clarão flamejante o lugar de encontro do clã. O Mestre dos Lobos Azuis encontrava-se diante do seu lugar-tenente e do núcleo do clã. Ajustou a máscara de lobo para melhor ocultar as feições.
Só o lugar-tenente conhecia o seu nome verdadeiro.
Batukhan, que significava «soberano firme».
— E sobreviveram ao ataque em Aktau? — perguntou ao lugar-tenente.
Arslan assentiu rapidamente com a cabeça. Ainda não tinha trinta anos de idade, sem barba, alto e esguio, e o seu cabelo era tão preto como as sombras.
Estava vestido ao estilo ocidental, calças de ganga e uma grossa camisola de lã, mas pelas maçãs do rosto salientes e faces avermelhadas brilhantes, via-se que era de pura raça mongol — e não corrompida por sangue chinês ou soviético, os antigos opressores do seu povo.
O lugar-tenente era como muitos mongóis das gerações mais jovens — orgulhoso e exaltado pelas liberdades que a geração de Batukhan tinha ganhado a custo. Eram eles os verdadeiros descendentes do grande Gengis Khan, o homem que conquistara a maior parte do mundo conhecido montado num cavalo.
Batukhan lembrava-se que, nos tempos da governação soviética, Moscovo, com receio de que os mongóis oprimidos se revoltassem, tinha proibido mencionar o nome de Gengis Khan. Tanques soviéticos chegaram a bloquear as estradas nas montanhas Khentii para impedir que o povo visitasse ou venerasse o local de nascimento do imperador.
Mas tudo isso mudara com o estabelecimento de um governo democrático.
Gengis Khan estava de novo a renascer das cinzas para inspirar uma geração mais jovem. Era o seu novo semideus. Inúmeras crianças e jovens tinham por nome Temujin, o nome original do conquistador antes de adotar o título Gengis Khan, o qual significava «Soberano do Mundo». Por toda a Mongólia, ruas, doces, cigarros e cerveja tinham atualmente esse nome. E o rosto dele estava afixado nas notas de banco e nas fachadas de edifícios. Uma estátua de aço, representando Gengis Khan a cavalo, com 250 toneladas, saudava aqueles que visitavam a capital, Ulan Bator.
Orgulho renovado corria nas veias do povo.
Fitando o rosto do seu lugar-tenente, Batukhan não reconheceu nenhum desse orgulho, mas apenas a vergonha do insucesso. As suas palavras endureceram numa tentativa de incitar o seu sentido do dever.
— Então, devemos avançar e nunca desistir. Vamos esperar que os italianos cheguem ao deserto e se encontrem com o padre. Se não se assustaram e regressaram a Roma, é isso que farão.
— Irei lá pessoalmente.
— Muito bem. Mas tens a certeza de que o padre não desconfia que há gente do nosso clã lá infiltrada?
— O padre Josip só vê a areia e o seu objetivo.
— Então junta-te a eles.
— E se entretanto os italianos chegarem?
— Mata-os. Rouba o que eles têm na sua posse e traz-mo cá.
— E o padre Josip?
Batukhan lançou um olhar à volta da câmara subterrânea. O clã existia há três gerações e fora constituído como uma guerrilha de resistentes pelo seu avô na altura da ocupação soviética. Todos os chefes adotaram o título Borjigin, «Mestre do Lobo Azul», o antigo nome do clã de Gengis Khan.
Mas o mundo mudara desde então. Agora, e devido às suas operações mineiras, a economia da Mongólia era a que crescia mais rapidamente no mundo. A verdadeira riqueza do país não estava enterrada com o túmulo perdido de Gengis Khan, mas encontrava-se em depósitos de carvão, cobre, urânio e ouro, e era avaliada em biliões de dólares.
Batukhan já tinha consideráveis interesses financeiros em várias minas — mas não conseguia esquecer-se das histórias que o avô e o pai lhe tinham contado acerca do imenso tesouro escondido no túmulo de Gengis Khan.
E mantinha debaixo de olho quem procurasse a localização dessa sepultura sagrada.
Entre os quais se incluía o estranho e solitário padre Josip Tarasco.
Há uns seis anos ouvira boatos sobre um homem com diversos nomes e vindo não se sabia de onde, que tinha aparecido no Cazaquistão e se pusera a abrir buracos na areia e no sal, perseguindo as águas que recuavam do mar moribundo. As intenções do forasteiro tinham sido conhecidas em Ulan Bator há apenas dois anos: andava à procura do sítio onde Gengis Khan fora sepultado. Tratava-se de um sítio tão esquisito que Batukhan não tinha dado muita importância àquilo — à parte infiltrar alguns membros do clã nessas escavações para vigiar o homem.
Mas, há três dias, vieram-lhe dizer que umas relíquias antigas que até então nunca tinham sido vistas estavam na origem dessa busca. Escondidas ao longo de todos estes anos, ninguém lhes pusera a vista em cima por causa da paranoia do homem. Segundo os seus espiões, este estava cada vez mais desesperado e agitado, e tinha falado dessas relíquias.
As suas palavras espalharam-se por entre os trabalhadores. Muitos deles fugiram em pânico, mencionando uma caveira e um livro encadernado com pele humana. De repente, o homem tinha embalado os objetos e enviara-os por correio. Talvez temesse que a notícia chegasse a ouvidos errados — o que, de facto, aconteceu.
Os ouvidos de Batukhan.
Intrigado, tentou intercetar a embalagem antes que chegasse a Roma, mas demorara a agir. No entanto, acabou por ficar a saber o nome do remetente.
Padre Josip Tarasco.
E a quem se destinava.
As relíquias, contudo, escaparam-lhe.
Mas por pouco tempo.
Arslan agitou-se. Esperava a decisão do chefe quanto ao estranho padre.
Batukhan levantou a cabeça.
— Se for possível, traz também o padre Josip para eu o interrogar.
— E se não for possível?
— Então, mete-o dentro da sepultura juntamente com os outros.
Com o assunto arrumado, Batukhan voltou a subir para a rua pelo labirinto de túneis envoltos em vapor, enquanto os outros membros do clã dispersavam em várias direções.
Manteve a máscara de lobo no rosto ao atravessar zonas onde muitos dos sem-abrigo de Ulan Bator procuravam refúgio contra o frio. Alcunhados por escárnio «tribos de formigas», eram sobretudo alcoólicos. Ele desprezava-os pois estavam longe de constituir a esperança de uma nova Mongólia, mas algo que era melhor ignorar.
Homens, mulheres e algumas crianças afastavam-se como vermes do seu caminho, assustados pela máscara que ele usava.
Chegou por fim a uma escada e subiu por uma abertura de esgoto que ia dar a uma viela. Um membro do clã voltou a tapá-la depois de ele sair.
Só quando esse homem se foi embora Batukhan tirou a máscara e, sacudindo o fato, se dirigiu para a rua principal. A noite estava fresca; porém, tendo em conta a época do ano, ainda fazia calor. Ulan Bator era considerada a capital mais fria do mundo, mas o inverno parecia reter o seu hálito gelado, como se previsse um evento importante.
O parlamento elevava-se do outro lado da Praça Sükhbaatar. No alto da sua escadaria de mármore, via-se a gigantesca figura em bronze de Gengis Khan sentado e profusamente iluminado a vigiar a cidade.
Ou talvez estivesse a contemplar o flamejante cometa no céu.
Dizia-se que o cometa de Halley tinha aparecido em vida de Gengis Khan e que este veio a considerá-lo a sua estrela pessoal. Interpretou a sua trajetória rumo a oeste como um sinal para invadir a Europa.
Podia este novo cometa ser também o sinal de grandes acontecimentos futuros?
Como resposta a este pensamento, Batukhan avistou os breves clarões de duas estrelas cadentes ao caminhar em direção à praça.
Dirigiu-se para o edifício do parlamento com renovado vigor. Um indivíduo que andava por ali reparou na sua presença e cumprimentou-o, baixando a cabeça, quando ele passou.
Apesar de preferir julgar que aquele gesto constituía uma forma de reconhecer que ele era o legítimo guardião do legado de Gengis Khan, sabia que se devia simplesmente ao seu estatuto de ministro da Justiça da Mongólia.
Batukhan lançou outro olhar ao cometa.
A exemplo de Gengis Khan, talvez seja também a minha estrela pessoal...
guiando-me rumo à conquista, ao poder e à riqueza.
9
18 DE NOVEMBRO, 19H02, KST
PYONGYANG, COREIA DO NORTE
Era uma maneira estranha de invadir um país.
Gray ia na retaguarda do autocarro que chocalhava. Atrás dele, Kowalski estava estendido ao comprido no banco a ressonar. O resto do veículo estava cheio de chineses, homens e mulheres, a dormitar ou a falar em voz baixa.
Alguns traziam câmaras a tiracolo e outros usavam bonés de basebol com o mesmo sorridente gato amarelo pintado nos lados do autocarro cinzento, o emblema oficial da companhia de excursões turísticas de Pequim.
Na parte da frente da viatura, Zhuang mantinha-se vigilante ao lado do motorista, o qual, bem como os passageiros, também pertencia à tríade Duàn Zhi.
Esta manhã, o grupo tinha viajado em jatos privados de Hong Kong para um pequeno aeroporto a pouca distância da fronteira China-Coreia do Norte, onde os dois autocarros os esperavam. Ao contrário da zona desmilitarizada fortemente armada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a fronteira com a China limitava-se principalmente a reduzir o número de habitantes da República Popular Democrática da Coreia que procurava refúgio naquele país.
Ao atravessarem a fronteira, Gray e Kowalski tinham sido escondidos num compartimento secreto que também continha armas, mas nenhum soldado norte-coreano subiu sequer a bordo. Tais autocarros eram comuns pois os chineses mais ricos costumavam visitar a beleza natural e selvagem das montanhas cobertas por florestas entre a fronteira e Pyongyang. E é evidente que a empobrecida Coreia do Norte nada fazia para desencorajar os visitantes, os quais constituíam uma importante fonte de divisas.
Uma vez atravessada a fronteira, os dois autocarros arrastaram-se lentamente ao longo das serpenteantes estradas da montanha, avançado para a capital. Pyongyang foi avistada quatro horas mais tarde na planície para lá das colinas. Após a animação e as estonteantes luzes de Hong Kong, a cidade em frente parecia deserta e às escuras. Sombras de arranha-céus perfilavam-se contra o céu noturno. Uns quantos monumentos brilhavam na escuridão juntamente com alguns candeeiros de rua e janelas iluminadas, mas pouco mais havia. Era como uma cidade congelada no tempo, onde nada se movia.
Uma figura no assento à frente de Gray remexeu-se.
— É uma tristeza — murmurou Guan-yin com ar de quem não tinha dormido, por estar preocupada com a filha. — Os habitantes de Pyongyang têm apenas direito a três horas de eletricidade por dia.
A caminho da cidade por uma estrada com quatro faixas, não viram um único veículo. Não encontraram carros nem mesmo nos subúrbios e até os semáforos estavam apagados. O silêncio pairava no interior do autocarro, como se os passageiros receassem perturbar os fantasmas desta cidade aparentemente deserta.
O primeiro sinal de vida foi um solitário veículo militar a rodar lentamente em torno de um maciço edifício bem iluminado.
— É o Palácio do Sol de Kumsusan — sussurrou Guan-yin. — Foi outrora a residência oficial do presidente Kim Il-sung. Mas, após a sua morte, foi transformado num mausoléu onde o seu corpo embalsamado se encontra exposto num sarcófago de vidro.
Eis um exemplo do elaborado culto de personalidade promovido pelo Estado, pensou Gray. Kim Il-sung e os seus descendentes são venerados como deuses.
— A sua construção foi calculada em cerca de um milhar de milhões de dólares... — comentou irritada Guan-yin ao deixarem o monumento para trás.
— Enquanto o povo da Coreia do Norte morria de fome.
Gray sabia que a morte de Kim Il-sung em meados da década de noventa coincidira com uma epidemia de fome em que tinha perecido quase 10 por cento da população. Foi tão grave que houve casos de canibalismo nas áreas rurais e as crianças foram avisadas para não dormir ao ar livre.
E, mesmo agora, a vida pouco melhorara para os norte-coreanos.
O país ainda não conseguia produzir alimentos suficientes e as infraestruturas continuavam a operar mediante um orçamento ínfimo. Até mesmo as fábricas tinham dificuldade em funcionar, por falta de peças e escassa energia elétrica.
A única indústria que continuava a progredir era o teatro político.
Do lado de lá das janelas do autocarro, desfiladeiros de sombrios prédios de apartamentos espalhavam-se a perder de vista. Grandes cartazes e murais coloridos eram as únicas coisas que interrompiam a monótona paisagem urbana. Mas nenhum deles fazia publicidade a refrigerantes, cerveja ou aparelhos eletrónicos. Exibiam apenas variadas versões do carácter benéfico do Supremo Líder.
Quando os dois autocarros viraram na estrada vazia de quatro faixas, o seu objetivo surgiu a pouca distância: o Hotel Ryugyong. Era o edifício mais alto de Pyongyang e parecia uma nave espacial de vidro a elevar-se. Tinha cem andares, mas, a exemplo do resto da cidade, estava às escuras. Apenas o nível da receção e algumas janelas acesas indicavam sinal de vida.
O plano era usar o hotel quase deserto como base. Por via dos recursos postos à disposição por Guan-yin e de subornos, tinham descoberto que uma mulher correspondendo à descrição de Seichan fora levada para um kyohwaso militar, um reformatório a uns quilómetros da capital.
Num país pobre onde a corrupção reinava, o dinheiro falava mais alto.
Logo que se instalassem no hotel, todos se armariam e vestiriam fardas norte-coreanas. Às duas da manhã, um camião de transporte militar seria abandonando perto de uma saída de serviço do hotel, cortesia do mais elevado suborno pago por Guan-yin. E depois, a meio da noite, atacariam a prisão.
Ao chegar ao hotel, o autocarro que ia à frente contornou a entrada principal e entrou por um portão.
O veículo de Gray seguiu-o.
O hotel tinha aberto parcialmente há uns meses depois de uma série de problemas e atrasos. A sua construção arrastara-se ao longo de vinte anos e o edifício permanecera vazio durante todo esse tempo, uma amarga metáfora da própria capital. E era por isso que ganhara uma alcunha na imprensa.
O Hotel da Catástrofe.
Gray pediu a todos os santos que o nome não viesse a tornar-se uma realidade nas próximas horas.
Infelizmente, não teve de esperar nem uma hora.
Assim que o primeiro autocarro parou, dezenas de militares armados cercaram-no aos gritos. Faróis brilharam e um jipe militar bloqueou apressadamente a passagem atrás deles.
Tinham caído numa armadilha.
19h33
Ju-long Delgado, de pé em frente de uma janela, olhou para o interior da sala, examinando a assassina amarrada a uma cadeira de interrogatório saída diretamente da Inquisição espanhola. Tinham-na deixado em cuecas e sutiã, estratagema psicológico para a fazer sentir-se vulnerável. Cada membro estava preso separadamente por grossas algemas, permitindo usar a cadeira provida de dobradiças para torcer o corpo da vítima em inúmeras posições dolorosas.
Neste momento, ela estava dobrada para trás, o que repuxava as articulações das ancas e dos ombros, exercendo pressão na coluna. Há três horas que se encontrava nesta posição.
Para a tornar mais dócil, tinha dito Hwan Pak. Disposta a manifestar mais flexibilidade.
O cientista rira de forma demasiado ruidosa da piada medíocre, fungando pela ligadura sobre o nariz partido. Procurava claramente vingar-se para apaziguar o orgulho ferido. E, por essa razão, tencionava magoá-la.
Aquela posição devia sem dúvida ser atroz. A sala estava gelada, mas o suor brilhava na pele nua, testemunha da dor. Delgado imaginou-a contorcendo-se a ranger os dentes, mas ela tinha a cabeça coberta por um capuz, e auscultadores, limitando-lhe a perceção sensorial e obrigando-a a concentrar-se unicamente na dor.
Os norte-coreanos sabiam o que estavam a fazer.
E pelas escanzeladas almas meio esfomeadas que tinha visto a vaguear apaticamente pelo campo de concentração à cunha, não eram mais amáveis com a sua própria gente. Amontoavam quarenta pessoas numa só cela, cada uma do tamanho de uma garagem para dois carros. Tinha visto dois homens à bulha por um cadáver, para ter direito a enterrá-lo e ganhar uma dose suplementar de comida.
Isto aqui era a versão norte-coreana de Auschwitz.
O telemóvel de Ju-long tocou no seu bolso. Tirou-o, julgando que se tratava de uma atualização do que se passava no Hotel Ryugyong. Tomaz tinha lá ido com a equipa de intervenção.
Mas, em vez disso, uma voz doce atendeu: — Ju-long...
Ele sorriu e parte da tensão que sentia desapareceu.
— Natalia, meu amor, porque me telefonas? Está tudo bem?
Imaginava-a, grávida do seu filho.
— Só queria ouvir a tua voz antes de adormecer — disse ela em tom meio ensonado. — Sinto falta do calor do teu corpo junto ao meu.
— É a última noite em que a tua cama está vazia. Prometo que voltarei para casa amanhã à tarde o mais tardar.
— Hum — murmurou ela, sonolenta. — Não faltes à tua promessa.
— Não falharei.
Despediram-se, desejando boa noite um ao outro.
Ao meter o telemóvel no bolso, olhou para a mulher torturada na sala ao lado e sentiu-se um pouco culpado. Mas fora suficientemente bem pago para não ter remorsos. Depois de finalizar o negócio, regressaria a Macau amanhã de manhã.
Teria partido nessa mesma noite, mas preveniram-no que Guan-yin tinha escapado do incêndio que destruíra o bastião da tríade, informando-o também que os americanos tinham sobrevivido graças às suas acrobacias em trapézio voador para fugir às chamas. E depois, há apenas meia hora, soubera por várias fontes que Guan-yin não só se encontrava na Coreia do Norte como também tencionava atacar o campo de concentração.
Informara então Hwan Pak e tinham conseguido organizar uma equipa de intervenção para montar uma armadilha aos recém-chegados no Hotel Ryugyong e impedir que libertassem esta mulher.
Olhou novamente para a sala, incomodado por uma pergunta.
Porque era ela tão valiosa?
Ju-long achava agora que tinha aceitado um preço demasiado baixo por ela, mas Pak não se deixara convencer. Com o orgulho tão magoado como o nariz, o cientista nuclear norte-coreano não tinha dado a Ju-long outra escolha senão aceitar a sua oferta. Pak clamava vingança e não admitia que lha recusassem.
Como se ouvisse os seus pensamentos, Pak apareceu nesse preciso momento, sorridente.
— Chegaram, conforme você prometeu, Delgado-ssi. Apanhámo-los.
Imaginou Guan-yin na mesma situação desta rapariga. Talvez isso fosse compensação suficiente para as atribuições de Ju-long. Com Guan-yin fora do caminho, a posição de Ju-long seria fortalecida em Macau.
— Mas ainda temos assuntos para tratar aqui — disse Pak, olhando lascivamente para a sala. — Disseme que ela é uma assassina com muitas ligações criminosas. Temos de saber quem são, se podem beneficiar-nos e, mais importante, quais são as relações dela com os dois americanos.
— Eles estavam com a Guan-yin?
Até agora, Ju-long não tinha tido uma resposta definitiva por parte dos seus contactos. Uns concordavam; outros, não.
— Ainda não sei, mas terei respostas dentro de uma hora.
A porta abriu-se por trás de Pak. Outro homem entrou. Alto, esquelético e de cabeça rapada, vestia uma bata de laboratório comprida e transportava um tabuleiro de aço inoxidável com sinistros instrumentos cirúrgicos. Curvou-se ligeiramente, mantendo uma expressão impassível.
— Nam Kwon — apresentou Pak. — Não há respostas que ele não consiga extrair.
O interrogador dirigiu-se para a sala vizinha, seguido por Pak.
Este deteve-se à ombreira da porta.
— Deseja assistir? — perguntou a Ju-long. — É bem-vindo. A mercadoria é sua.
— Já não é — corrigiu-o ele. — Você pagou-a. O que fizer com ela de agora em diante já não me diz respeito.
Nem é culpa minha, acrescentou em silêncio.
O doutor Pak encolheu os ombros e saiu.
Ju-long olhou uma última vez para a sala vizinha.
Imobilizada naquele moderno aparelho de suplício, a mulher não tinha soltado um único grito — mas gritaria em breve
19h39
— Faz marcha-atrás! — bradou Gray. — Não abrandes!
Pôs-se instantaneamente de pé quando a polícia militar saiu da receção do hotel e cercou o primeiro autocarro. Tiveram segundos para reagir antes de serem bloqueados.
Zhuang sabia o suficiente de estratégia para reconhecer o mesmo. Repetiu as instruções em cantonês ao motorista e o autocarro recuou pesadamente.
Quando ganhou velocidade, Gray deixou-se cair de joelhos e abriu o alçapão oculto no piso do veículo.
Balas crivaram os lados do autocarro, estilhaçando as janelas. A parte da frente foi alvo do ataque mais renhido. De repente, o motorista tombou de lado com um grito de dor. O veículo deu uma guinada e parou. Zhuang afastou brutalmente o corpo do motorista e sentou-se no seu lugar.
O autocarro endireitou-se e avançou mais depressa.
Gray tirou a espingarda automática que fora guardada no alçapão para o caso de haver problemas na fronteira.
— Passa as outras armas — ordenou a Kowalski, apontando para o armamento que restava.
Para sobreviverem, tinha de transformar este autocarro num veículo de assalto — enfeitado com um sorridente gato amarelo.
Mas, primeiro, tinham de se safar desta emboscada.
Saltou para o banco de trás, trocando de lugar com Kowalski, e abriu a saída de emergência no tejadilho. Içou depois metade do corpo para fora e apontou a espingarda aos dois jipes que tentavam barrar-lhes a passagem.
Rebentou com o para-brisas de um, obrigando-o a sair do caminho e a enfiar-se no relvado. O outro desviou-se, mas manteve-se na estrada — até o autocarro se lançar em marcha-atrás contra ele.
O choque quase fez Gray perder o equilíbrio, mas pelo menos tinham escapado àquela armadilha.
Ao chegar ao fundo do caminho, o autocarro fez uma derrapagem de cento e oitenta graus e entrou na estrada com seis faixas, dando uma reviravolta. As mudanças gemeram, o motor rosnou e seguiram de novo em frente, ganhando velocidade.
Os jipes militares vieram atrás deles.
Mais carros com sirenes surgiram à frente, avançando em sua direção, e viram ao longe os faróis de um helicóptero a elevar-se no céu sobre a cidade às escuras.
Até agora, a emboscada dos norte-coreanos, embora uma surpresa, dava a impressão de ter sido preparada à pressa. Quem quer que a tivesse planeado contara certamente com pouco tempo para mobilizar a polícia de Pyongyang.
Mas agora, a cidade despertava e preparava-se para empregar todas as forças disponíveis.
No interior do autocarro, as armas tinham sido distribuídas e as janelas abertas. Viam-se canos de espingardas de assalto em todas elas. No entanto, quanto tempo esperavam resistir ao poderio das forças armadas norte-coreanas?
Muito pouco tempo.
Gray baixou-se e falou com Guan-yin.
— Podes contactar o homem que tem de nos entregar o camião de transporte militar? Temos de avisá-lo que o deixe noutro sítio.
Ela assentiu, pôs a espingarda sobre o ombro e pegou no telemóvel.
A única esperança que lhes restava de sobreviver e de salvar Seichan era seguir o velho ditado: Se não consegues vencê-los, junta-te a eles.
Tinham de criar suficiente confusão para conseguirem descarregar o autocarro e meterem toda a gente no camião de transporte. Com todos aqueles veículos militares a inundar as ruas da capital, talvez fosse possível misturarem-se com eles no meio do caos.
— Há uma passagem subterrânea perto da estrada que vai para sul — informou Gray. — Diz-lhe para o largar aí... agora!
E deixando-a para tratar dos pormenores, Gray voltou a enfiar-se pela escotilha no tejadilho.
Os jipes vindos do hotel aproximavam-se, contra eles por cima do para-brisas. Mas falhavam a maior parte dos tiros. Uma bala acertou, por sorte, perto do cotovelo dele.
Gray baixou-se e, apontando a espingarda automática, ripostou, estilhaçando o para-brisas de um jipe, que se desviou e foi chocar contra outro.
A colisão reduziu suficientemente a velocidade dos perseguidores para o autocarro ganhar terreno.
Carros da polícia com luzes intermitentes e sirenes a ganir aproximavam-se à frente deles e uma barragem de tiros irrompeu de ambos os lados. Alguns veículos tentaram intercetá-los, mas a estrada com seis faixas era demasiado larga. O autocarro abalroou-os enquanto disparava simultaneamente uma impiedosa saraivada de balas.
Livraram-se por uns momentos da perseguição por terra, mas infelizmente o mesmo não podia ser dito em relação ao ar.
Avistaram, à sua frente, um helicóptero a pairar sobre a estrada. De repente, o aparelho inclinou-se e mergulhou na direção deles, metralhando o autocarro e esburacando o asfalto à volta.
A pesada viatura nunca conseguiria escapar àquela ave predadora.
Gray virou-se e disparou contra o helicóptero, mas a blindagem era demasiado espessa. Era o mesmo que usar bolinhas de papel mascado.
Então a porta lateral do autocarro abriu-se e uma forma volumosa — Kowalski — inclinou-se, apontando um lança-granadas RPG-29 soviético. Era uma arma antitanque e qualquer blindado era canja.
Kowalski soltou uns berros ao disparar praticamente à queima-roupa. A granada subiu largando um rasto de fumo e rebentando um pouco abaixo dos rotores.
Gray saiu do tejadilho e estendeu-se ao comprido no piso da viatura. Pela saída de emergência no tejadilho, viu o helicóptero explodir na altura precisa em que o autocarro passava por baixo, tentando escapar.
Não conseguiu.
A explosão fez balançar a viatura. Uma pá do rotor cortou o ar, caindo a centímetros do corpo de Gray, suficientemente perto para ele sentir no rosto o calor do aço.
No entanto, apesar de um pneu furado, continuavam a avançar.
Gray voltou a enfiar o corpo pela escotilha. Os destroços em chamas do helicóptero ficaram para trás. Mas mais aparelhos iluminaram o céu, convergindo na direção deles.
Como pressentindo a necessidade de proteção, Zhuang saiu da estrada e enfiou por um labiríntico bairro de edifícios de apartamentos, apagando os faróis para não ser notado.
Gray esperava que o helicóptero a arder atraísse, como borboletas, a atenção da polícia, o que lhes permitiria ganhar algum avanço. Continuaram rumo a sul pela cidade, evitando sempre que podiam as artérias principais.
As sirenes ressoavam por toda a Pyongyang.
As ruas, contudo, permaneciam vazias e as janelas às escuras. Os residentes sabiam que era melhor não aparecer.
Após vários minutos de tensão, localizaram a passagem por baixo da estrada ao fundo de uma viela estreita de lojas e garagens fechadas. Zhuang abrandou enquanto procurava refúgio no meio da escuridão. A passagem subterrânea era tão baixa que Gray teve de se baixar para não ser decapitado.
Foi ter com Kowalski, que ainda segurava o lança-granadas. Deslizaram por baixo da estrada. O espaço parecia vazio, mas estava demasiado escuro para saberem ao certo.
Se o camião de transporte não estivesse aqui....
— Experimenta acender os faróis — murmurou Gray a Zhuang com o coração aos pulos.
O espadachim obedeceu e a luz iluminou toda a passagem subterrânea, expondo todos os cantos.
Nada.
Gray lançou um olhar a Guan-yin, que o tinha seguido.
Ela abanou a cabeça, sem compreender.
— Ele garantiu que estaria aqui.
Kowalski bateu com a palma da mão na porta.
— Sacana...
Um par de faróis acendeu-se de repente umas ruas mais acima e um enorme camião contornou uma curva a grande velocidade e avançou para onde eles estavam.
Gray abriu a porta do autocarro e saltou lá para fora, apontando a arma na direção do veloz veículo.
Guan-yin juntou-se a ele e insistiu para que ele baixasse a arma.
— É o nosso camião — afirmou.
Assim era, pois o camião verde-escuro acabou por travar ao lado do autocarro. Era um modelo chinês com uma cabina alta para o motorista e incluía também uma cama. Não era blindado, mas Gray não se queixava.
O motorista desceu, pegou na mochila com dinheiro que Guan-yin lhe entregou e afastou-se a correr.
— Não é dado a grandes conversas — comentou Kowalski.
Descarregaram rapidamente todo o equipamento do autocarro, fardas e armas. E três motas foram tiradas do camião. Fariam de acompanhantes do transporte de pessoal.
Cinco homens — os que tinham feições mais coreanas e falavam fluentemente a língua — vestiram de imediato fardas. Três montaram as motas e dois subiram para a cabina do camião. O resto instalou-se logo na retaguarda do camião.
Exceto um corajoso voluntário que aceitou conduzir o autocarro.
A mudança foi feita em menos de cinco minutos. O autocarro partiu numa direção e o camião e as motas noutra. Esperava-se que o autocarro atraísse a polícia e a levasse a persegui-lo o máximo de tempo possível. A seguir, o motorista abandoná-lo-ia e iria esconder-se na imensidão da cidade.
Gray ficou a ver do interior do camião o autocarro a desaparecer. Depois, olhou em volta do espaço escuro enquanto todos mudavam de roupa e vestiam fardas norte-coreanas.
Surpreendeu um rosto, sombreado por uma tatuagem, a olhar para ele.
Ambos partilhavam a mesma preocupação.
Assim que os raptores de Seichan soubessem desta fuga, como reagiriam?
Levá-la-iam para outro lugar ou dariam cabo dela logo ali?
Mas a pergunta mais importante era: Quanto tempo tinham para a salvar?
20h02
Seichan contorceu-se quando uma agulha penetrou com lentidão por baixo da unha. Quatro outras já estavam enfiadas na mesma mão. A dor percorreu-a até aos ombros enquanto respirava pesadamente pelas narinas, recusando-se a gritar.
O seu torturador, sentado num banco, debruçava-se inexpressivamente, mas atento, sobre o braço dela, como uma manicura.
Viam-se outros instrumentos de tortura espalhados por trás dele, brilhando friamente sob as luzes fluorescentes. Ela sabia que se tratava de uma manobra psicológica, um aviso do que estava para vir caso se recusasse a falar.
O outro ocupante da sala andava agitadamente de um lado para o outro, retorcendo as pequenas mãos.
— Diz-nos quem são esses americanos — repetiu Pak em voz estridente e nasal por causa da ligadura no nariz. — E paramos com isto.
Param o tanas.
Sabia que eles tencionavam extrair-lhe toda a informação que pudessem. Os dias mais próximos prometiam um sofrimento interminável. O seu maior medo não eram os cintilantes instrumentos de tortura nem as ameaças de violação, mas o medo de por fim não aguentar mais. E, com o tempo, acabar por contar tudo: nessa altura, tanto faria que fosse verdade ou mentira.
Entretanto, reconfortava-se com o que podia.
Se a questionavam acerca de Gray e Kowalski era porque, provavelmente, eles tinham sobrevivido à emboscada em Macau e ao ataque em Hong Kong.
Seichan sabia que, se ainda respirasse, Gray tentaria salvá-la.
Mas poderei eu resistir tanto tempo?
Saberá ele sequer onde estou?
Dominou o sentimento de esperança, sabendo que isso só conduziria à fraqueza. Ao fim e ao cabo, seria melhor que Gray não tentasse libertá-la pois poderia vir a ser morto.
O interrogador — que lhe fora apresentado como Nam Kwon — ligou delicadamente minúsculos clipes elétricos às cinco agulhas espetadas. Falava com voz suave, em tom quase de desculpa, sem nunca levantar a cabeça.
— O choque elétrico vai fazê-la sentir como se as suas unhas fossem todas arrancadas ao mesmo tempo. A dor é inimaginável.
Ela ignorou aquelas palavras, sabendo que ele queria que ela imaginasse tal dor. A antecipação da dor era frequentemente pior do que suportá-la.
Pak avançou, aproximando o rosto do dela.
— Diz-nos quem diabo são esses americanos — repetiu.
Ela fitou-o e sorriu com frieza.
— São os que hão de arrancar-te os tomates e dá-los a comer aos porcos.
Pak, enraivecido, semicerrou os olhos de raiva e ela aproveitou aquele instante para lhe pregar uma cabeçada em cheio no rosto.
Ele caiu para trás, soltando um berro com o nariz ensanguentado.
— Liga isso! — ordenou a Kwon. — Fá-la gritar!
Kwon manteve-se calmo e, sem pressa, apontou para uma agulha num mostrador.
— Isto é a voltagem mais baixa — explicou, e a seguir rodou um interruptor.
A dor dilacerou-a. A surpresa, mais do que o sofrimento, arrancou-lhe um grito. O braço parecia de fogo enquanto a eletricidade lhe contorcia o corpo. Os músculos rígidos debatiam-se com tremores convulsivos contra os entraves que a prendiam à cadeira.
Por uma cortina em chamas, viu a porta atrás de Kwon e Pak abrir-se.
A interrupção chamou a atenção dos dois torcionários. Kwon desligou o dispositivo elétrico e o corpo dela abateu-se na cadeira ainda a tremer. A mão ardia-lhe.
Delgado olhou na sua direção. Estava lívido, mas fazia o possível para não mostrar nenhuma reação. Por fim, teve de desviar o olhar.
— O Tomaz, um dos meus homens postados no Hotel Ryugyong, acabou de me dar uma notícia. Metade da tríade Duàn Zhi foi presa ou morta no hotel.
Mas a outra metade escapou num segundo autocarro. Toda a cidade de Pyongyang anda à procura deles.
Confusa, Seichan concentrou-se na dor residual. Duàn Zhi era o nome da tríade da mãe. Mas que estavam eles a fazer aqui na Coreia do Norte? Fez um esforço para entender. Estava a mãe a tentar simplesmente vingar-se do ataque ao seu quartel-general em Hong Kong? Ou tratava-se de algo mais pessoal?
Voltou a engolir a esperança, mas não conseguiu ver-se completamente livre dela.
— E que aconteceu à Guan-yin? — perguntou Pak em tom irado.
A mãe...
Seichan reteve a respiração.
Delgado não parecia mais satisfeito do que o norte-coreano.
— Nem ela nem o seu lugar-tenente, o Zhuang, foram encontrados entre os presos.
Pak pôs-se a andar de um lado para o outro de punhos cerrados.
— Mas continua no nosso país e há de ser apanhada em breve.
Delgado soltou um grunhido pouco convencido. Guan-yin tinha sobrevivido ao assalto que ele organizara contra o seu quartel-general e ele não estava disposto a subestimar tal adversário.
— Tenho ainda mais notícias... — prosseguiu Delgado. — Parece que os americanos vieram com ela.
— Os americanos! — exclamou Pak de rosto congestionado.
Seichan também sentiu a emoção — e a esperança voltou a nascer dentro dela apesar dos seus esforços para a refrear.
— E então a prisioneira? — perguntou o luso-chinês, apontando para Seichan. — Não será prudente deixá-la aqui.
Pak concordou com um movimento de cabeça.
— Há um campo reservado aos presos perto do meu laboratório. Fica na distante região montanhosa do Norte. É conhecido somente por um punhado de gente no poder e está bem guardado. De qualquer modo, estava a pensar transferi-la amanhã. Mas podemos fazer isso agora.
Portanto, Pak tencionava mantê-la perto de si para desfrutar de todos os seus gritos de dor. Não era nada bom. Seichan sabia que, se fosse metida nesse campo, estaria perdida.
— Seria melhor matá-la já — sugeriu Delgado, indicando com um movimento do queixo a pistola de Pak guardada no coldre. — Enfiar-lhe uma bala na cabeça.
Seichan pressentiu que tal proposta demonstrava mais uma preocupação por ela do que por Pak. Era preferível uma morte sossegada a meses de tortura que terminariam na mesma numa sepultura.
Mas Pak não aceitava a sugestão e enchia orgulhosa e patrioticamente o peito.
— Isso seria uma reação cobarde a uma ameaça menor.
Delgado encolheu os ombros.
Pak olhou para ela com o sangue ainda a pingar do nariz. Seichan leu o que lhe ia na mente. A decisão de a matar não tinha que ver com honra, mas sim com o prazer de a torturar. Tinha apanhado o gosto há um momento, e agora queria mais.
Pak chamou o soldado de guarda à porta e sacou da pistola.
— Solta-a e leva-a para o meu jipe — Certifica-te de que está bem amarrada.
— Está muito frio, seon-saeng-nim — respondeu em tom formal o soldado.
— Devo arranjar roupa quente para ela vestir?
Pak olhou para Seichan de alto a baixo.
— Aniyo — respondeu por fim. — Se ela quiser viajar agasalhada, terá de suplicar.
Uma vez o assunto arrumado, o guarda apontou a espingarda a Seichan.
Kwon abriu as algemas acolchoadas que a prendiam à cadeira.
Primeiro os tornozelos e depois os pulsos.
Assim que foi libertada, atacou, espetando as pontas das agulhas que ainda lhe saíam das pontas dos dedos nos olhos de Kwon. Este tombou para trás, bloqueando parcialmente o ângulo de tiro do guarda, conforme ela planeara.
Deu então um salto, escudando-se atrás de Kwon quando o soldado disparou. Balas crivaram o torturador, mas não a atingiram. Atirou o corpo inerte de Kwon contra o guarda para ganhar tempo e, rodopiando, arrancou a pistola das mãos de Pak.
E enfiou um único tiro na testa do soldado, tirando-lhe depois a espingarda com a mão livre.
A seguir, saiu a correr pela porta — deixando Delgado e Pak incólumes. Sem saber o que a esperava, não se atrevia a gastar neles uma bala que fosse.
Uma vez no exterior, trancou a porta da sala de interrogatórios. Puxou então dolorosamente cada uma das agulhas de aço enfiada debaixo das unhas, observando depois a raiva impotente de Pak pela pequena janela da porta.
Como a sala era insonorizada, não se ouvia nenhum som.
Com os braços cruzados sobre o peito, Delgado deu conta de que ela os espreitava e sorriu-lhe, oferecendo um respeitoso assentir com a cabeça.
Virando-se, Seichan desatou a correr na direção da saída do edifício. Por sorte estava deserto a esta hora tardia. Revistou os armários perto da porta da frente, esperando encontrar uma farda norte-coreana.
Encontrou apenas roupa amarrotada destinada aos presos. Vestiu umas calças soltas e uma camisa escura cujo único enfeite era a efígie de Kim Il-sung no lado esquerdo do peito.
Meteu, com muita pena, a espingarda automática num dos armários. Era demasiado grande para a esconder e, vestida com roupa de prisioneiro, seria complicado explicar porque a tinha consigo.
Com a pistola escondida contra a perna, embrenhou-se na noite. Ouviu ao longe o eco de sirenes vindo das bandas de Pyongyang.
Mesmo com uma pistola na mão, nunca conseguiria passar sozinha pelos portões guardados da frente. E, caso o conseguisse, para onde iria? Tinha de confiar que Gray ou a mãe sabiam onde encontrá-la e que viriam buscá-la.
Correu em direção às casernas para se esconder no meio dos presos e não dar nas vistas até chegarem socorros.
Pela primeira vez na vida, Seichan confiou na esperança.
10
18 DE NOVEMBRO, 17H05, QYZT
MAR DE ARAL, CAZAQUISTÃO
O Eurocopter aumentou de velocidade sobre uma paisagem sem fim de tempestade de areia e sal em crosta. Jada olhava com indiferença lá para baixo, mal podendo acreditar que esta região degradada fora outrora um belo mar azul a fervilhar de peixe, com aldeias nas margens e cheio de vigor e vida.
Era inimaginável.
Tinha lido o dossiê da missão sobre o mar de Aral e o desvio dos seus dois importantes rios, levado a cabo nos anos sessenta pelos soviéticos, para irrigar plantações de algodão. Ao longo do tempo o rio começou rapidamente a secar, perdendo dez por cento do seu tamanho original e drenando um volume igual ao dos lagos Eerie e Ontário juntos. Tudo o que restava eram uns charcos salgados a norte e a sul.
E agora só havia esta terra abandonada entre eles.
— Chamam a isto o deserto de Aralkum — sussurrou monsenhor para não acordar os outros. — As suas salinas tóxicas são tão grandes que se veem do espaço.
— Tóxicas...? — inquiriu ela.
— À medida que o mar desapareceu, foi deixando poluentes e pesticidas. As rajadas de vento levantam regularmente a areia e a poeira formando nuvens espessas a que se chamam «tempestades negras».
Jada reparou então num turbilhão de vento que atravessava as salinas como se os seguisse.
— Os habitantes destas paragens começaram a adoecer. Infeções respiratórias, anemias estranhas, aumento dos casos de cancro. A esperança de vida média passou de sessenta e cinco anos para cinquenta e um.
Surpreendida com estes números, ela fitou-o.
— E os efeitos não foram apenas locais — prosseguiu o padre. — Os ventos continuaram a espalhar o veneno tóxico pelo globo. Encontra-se poeira do Aral nos glaciares da Gronelândia, nas florestas da Noruega e até mesmo no sangue dos pinguins na Antártida.
Jada abanou a cabeça, perguntando a si mesma pela milionésima vez qual a razão deste desvio para um sítio tão desolado. Se lhe dessem a escolher, ela preferiria visitar outra localidade no Cazaquistão: o Cosmódromo de Baikonur, o primeiro centro espacial russo que ficava somente uns trezentos quilómetros a leste de onde eles estavam agora.
Lá, pelo menos, poderia reunir mais dados sobre a colisão.
Quer dizer, se tudo não fosse mantido secreto.
Lançou um olhar de esguelha às pontas dos dedos de Duncan. Ele dissera que tinha sentido energia a emanar das relíquias arqueológicas. Embora tivesse pressa, uma parte dela estava intrigada por tal afirmação.
E se tudo não passasse de uma ideia absurda?
Jada estudou as feições de Duncan enquanto ele dormitava ao lado do seu corpulento parceiro. Parecia ser alguém com os pés bem assentes na terra, e não um indivíduo com tendência para divagações fantásticas.
— Estamos a dez minutos das coordenadas — ouviram o piloto dizer pelo intercomunicador.
Toda a gente se agitou.
A atenção de Jada voltou a concentrar-se na janela. O Sol descia no horizonte. Montículos e restos cobertos de ferrugem de velhos barcos projetavam longas sombras no deserto plano.
Ao aproximarem-se, o Eurocopter começou a descer, sobrevoando as salinas.
— Mesmo em frente — disse o piloto.
Todos encostaram o nariz às respetivas janelas.
O helicóptero avançou na direção da única particularidade que se via a quilómetros de distância: a carcaça enferrujada de um enorme navio. Estava direito, com a quilha profundamente enterrada na areia, um navio fantasma a navegar neste mar tóxico. A oxidação tinha corroído o castelo da proa e manchado as anteparas do casco de vermelho-alaranjado, o que contrastava com a brancura das salinas.
— É este o lugar? — perguntou Rachel.
— Corresponde às coordenadas — confirmou o piloto.
— Estou a ver uma data de marcas de pneus no sal, à volta do navio encalhado — disse Duncan.
— Deve ser isto — insistiu monsenhor.
Monk comunicou com o piloto pelo rádio.
— Desça e aterre a uns cinquenta metros do navio.
O aparelho manobrou imediatamente para um lado, pairou por uns instantes e baixou até as rodas tocarem no chão, levantando um remoinho de areia e sal.
Monk tirou os auscultadores e gritou para o piloto.
— Mantenha o rotor a girar até eu dizer que está tudo bem.
Abriu a escotilha e, com um braço levantado contra as chicotadas de areia, aconselhou a todos que permanecessem no interior, exceto Duncan.
— Deixem-nos verificar isto primeiro.
Jada deixou-os ir à frente com satisfação e, da sombra da cabina, observou Monk e Duncan a atravessar a extensão de areia. O dia de inverno estava frio, mas não excessivamente. O ar cheirava a sal, a óleo de motor e a detritos.
Uma porta no casco a bombordo parecia fazer-lhes sinal. Estava ao mesmo nível da areia e exposta aos elementos. Antes de os dois homens chegarem a meio do caminho, um Land Rover camuflado saiu por uma abertura na popa do navio. Movia-se sobre pneus fabricados para a areia e traçou um arco para intercetar Monk e Duncan.
Estes tinham sacado as armas e apontavam-nas para o jipe.
O Land Rover chegou à altura deles, mantendo uma certa distância.
Seguiu-se uma troca de palavras, com muitos gestos da parte de Monk. O nome de monsenhor foi mencionado e, após uns minutos de discussão, Monk pôs-se a andar pesadamente de volta ao helicóptero.
— Dizem que o padre Josip se encontra no interior do navio — explicou. — Tentei convencê-los a deixar o padre sair para nos cumprimentar e nós termos a certeza de que não se trata de uma armadilha. Mas recusaram.
— Imagino que, por esta altura, o nível de paranoia do padre seja bastante elevado — comentou Vigor.
Jada detetou uma ligeira hesitação na voz de monsenhor, como se ele estivesse a ocultar algo acerca do homem.
— Vou encontrar-me com ele a sós — acrescentou Vigor, saindo do helicóptero.
— Não vais, não — disse Rachel, seguindo-o. — Não nos separamos.
— Então vamos todos — propôs Monk, virando-se depois para Jada. — Mas talvez seja melhor ficares.
Ela refletiu uns segundos e, enchendo-se de coragem, abanou a cabeça.
— Não fiz este caminho todo para ficar dentro do helicóptero.
Monk assentiu e depois berrou para o piloto.
— Podes contactar-me pelo rádio. Fecha bem o aparelho, mas mantém-no quente e pronto a partir caso tenhamos pressa.
O piloto fez-lhe sinal com os polegares para cima.
— Não acataria uma ordem diferente.
Depois de resolverem o assunto, todos se puseram em marcha para irem ter com Duncan. Jada caminhava à sombra do homem mais corpulento. Este piscou-lhe o olho — o que surpreendentemente a acalmou.
Isso e talvez a espingarda que empunhava.
Um indivíduo saltou do assento ao lado do condutor do Land Rover para os cumprimentar. Tinha a altura dela, cabelo escuro hirsuto e provavelmente a mesma idade. Estava vestido com um traje tradicional cazaque composto de calças largas, camisa comprida e um colete de pele de carneiro. Aproximou-se sem nada nas mãos, mas levantou o braço para mostrar uma correia de cabedal à volta do pulso esquerdo.
Em resposta ao seu forte assobio, ouviu-se um som estridente.
Uma forma sombria surgiu no céu por cima dele e desceu em voo picado na sua direção, mas, antes de embater nele, a ave com asas enormes travou no ar e as suas garras afiadas pousaram no punho de cabedal. O falcão fechou então as asas e pequeninos olhos negros fitaram desconfiadamente os recém-chegados — até o homem lhe tapar a cabeça com um pequeno capuz.
Só então o desconhecido olhou para eles, fazendo a monsenhor uma respeitosa vénia.
— O padre Josip mostrou-me fotografias do seu querido amigo, monsenhor Verona. Seja bem-vindo. — Falava impecavelmente inglês com sotaque britânico. — Sou Sanjar e o meu irritável companheiro de plumas chama-se Heru.
Vigor sorriu.
— A variante egípcia do nome grego Hórus. — De facto... O deus dos céus com cabeça de falcão. — Sanjar encaminhou-se para o navio. — Sigam-me, por favor. O padre Josip vai ficar muito contente de o ver.
Conduziu o grupo para a abertura cortada no casco do barco. À esquerda, o Land Rover arrancou, contornando a popa e desaparecendo.
Vigor esticou o pescoço para examinar o navio abandonado.
— O padre Josip tem vivido aqui todo este tempo?
— Aqui, não, mas lá em baixo.
E Sanjar baixou-se para entrar no interior sombrio do navio.
Jada seguiu Duncan e deu por si no cavernoso porão do barco. Lá dentro não era melhor do que no exterior. Ao longo dos anos, os elementos tinham causado grandes estragos, transformando o porão numa catedral de ferrugem e ruína.
Avistou o Land Rover abrigado ao fundo à direita numa garagem improvisada.
— Por aqui. — Sanjar indicou com um gesto uma escada aberta à esquerda com o corrimão todo corroído. Acendeu uma lanterna e desceu à frente.
De súbito, deixaram de pisar degraus de ferro, mas sim rochedo. Por uma abertura estreita no fundo do navio, uma passagem cavada na rocha conduzia a um labirinto por baixo daquela monstruosa embarcação em ruínas. Túneis sombrios ramificavam-se desde a passagem principal, revelando uma série de salas e outras galerias.
Parecia que uma povoação inteira poderia caber ali.
— Quem construiu isto? — perguntou Duncan a Sanjar.
— Primeiro, na década de setenta, os traficantes de droga... Mais tarde, foi ampliado por militantes em fins dos anos oitenta, tendo finalmente sido abandonado quando o Cazaquistão se tornou independente nos anos noventa.
Ao descobrir este esconderijo, o padre Josip transformou-o na sua base para poder trabalhar em paz e longe da atenção do público.
Chegaram, momentos mais tarde, ao que parecia ser o nível mais baixo e depararam com uma gruta artificial do tamanho de um campo de basquetebol.
Havia outras galerias, mas não havia necessidade de ir mais longe.
A sala principal parecia a combinação de uma biblioteca medieval com um esconderijo de objetos valiosos. Fileiras de estantes vergavam sob o peso de livros volumosos, e havia mesas enterradas debaixo de pilhas de documentos juntamente com cacos de cerâmica papéis e até mesmo ossos cobertos de poeira.
Viam-se também gráficos e mapas pregados na parede, alguns rasgados e outros com tantas garatujas que eram indiscerníveis. Também havia diagramas noutras paredes com flechas que os ligavam ou separavam, como se alguém estivesse a construir uma gigantesca e complicada máquina de Rube-Goldberg.
No meio desta confusão, encontrava-se o senhor deste domínio.
Estava vestido em estilo parecido ao de Sanjar, mas usava um colarinho de padre. O sol e o vento tinham-lhe curtido a pele e embranquecido o cabelo.
Havia dias que não se barbeava., Parecia muito mais velho do que Vigor — embora Jada soubesse que, na verdade, era dez anos mais novo.
No entanto, apesar do aspeto idoso de Josip, os seus olhos brilhavam quando olhou para eles. Jada perguntou a si mesma: Será aquilo o brilho do génio ou da loucura?
17h58
Vigor não pode ocultar o choque que sentiu perante o estado do seu colega.
— Josip?
— Vigor, meu amigo! — exclamou Josip, avançando por entre os livros empilhados no chão com os braços magros levantados e os olhos marejados de lágrimas. — Vieste!
— Como podia não vir?
Abraçaram-se. O amigo agarrou-se a ele, apertando-lhe os ombros como para se certificar de que ele era autêntico. Por sua vez, Vigor pôde sentir a magreza do colega e pensou que todos estes anos passados no deserto quase o tinham mumificado. Suspeitava, todavia, que mais do que outra coisa qualquer, fora a obsessão que reduzira o amigo a pele e osso.
Infelizmente, o mesmo acontecera já no passado.
Nos tempos do seminário, Josip Tarasco tinha sofrido a sua primeira crise psicótica e fora encontrado nu em cima do telhado, gritando que ouvia a voz divina nas estrelas e explicando que tinha de se despir para a luz das estrelas o banhar e o aproximar de Deus.
Pouco depois, diagnosticaram-lhe uma perturbação bipolar acompanhada de ciclos eufóricos e depressivos. Lítio e outros medicamentos ajudaram a estabilizar esses altos e baixos emocionais, mas não o curaram totalmente. Um aspeto positivo foi que essa propensão para a loucura despertou o seu génio.
No entanto, continuaram a ocorrer lapsos no seu estado mental, traduzindo-se em crises de obsessão compulsiva, alterações de comportamento e, em raros momentos, desordens psicóticas. Por essa razão, Vigor não se mostrou inteiramente surpreendido quando, há dez anos, Josip desapareceu repentinamente da face da terra.
Mas agora...
Depois de se abraçarem, Vigor perscrutou o rosto de Josip.
O amigo reparou na sua curiosidade.
— Sei em que estás a pensar, Vigor, mas não enlouqueci. — Lançou um olhar à sua volta, passando uma mão pelo cabelo. — Admito que, de momento, talvez esteja a portar-me de forma um pouco compulsiva, mas a pressão foi sempre minha inimiga. E considerando o que temos pela frente, tenho de aceitar e aplicar todos os dons que Deus me concedeu.
Ao ouvir isto, Rachel fitou-o com severidade. Vigor não tinha mencionado o estado mental de Josip por temer que isso convenceria a sobrinha a proibir a vinda dele aqui. E também porque uma revelação dessas podia pôr em dúvida a validade dos objetivos de Josip.
Vigor não tinha tais preconceitos.
Apesar do diagnóstico médico, respeitava o génio do amigo.
— A propósito do que temos pela frente, porque me pediste para vir aqui de maneira tão estranha? O que me enviaste causou muita confusão.
— Encontraram-te?
— Quem? — Vigor pensou no ataque na universidade e na bomba em Aktau.
Josip abanou a cabeça, o seu olhar tornava-se inconstante, paranoico. Vigor podia ver que o amigo tentava dominar-se.
Passou a língua pelos lábios.
— Não sei. A pessoa a quem pedi que enviasse a caixa por correio foi morta.
Apanharam-na quando regressou e torturaram-na, abandonando depois o corpo no deserto. Pensei... Tinha esperança de que fosse simplesmente obra de bandidos, mas agora...
Josip estava a perder a compostura. A suspeita transparecia no seu rosto e lançava olhares a toda a gente. A compulsão não era o único sintoma que se manifestava em momentos de tensão.
Vigor apresentou-lhe rapidamente os outros para tentar conter a paranoia crescente.
— E lembras-te certamente da minha sobrinha Rachel.
Josip reconheceu-a de imediato e o seu rosto animou-se.
— Claro! Que maravilha!
Ver alguém familiar pareceu aliviá-lo — encontrar-se entre amigos tranquilizava-o.
— Venham comigo — convidou. — Tenho imensas coisas para lhes mostrar e muito pouco tempo.
Conduziu-os até uma mesa de madeira comprida com bancos. Sanjar ajudou-o a remover o que a ocupava e depois todos se instalaram.
— O crânio e o livro? — perguntou ansiosamente.
— Sim. Trouxe-os comigo. Estão no helicóptero.
— Alguém pode ir buscá-los?
Duncan levantou-se, prontificando-se a fazê-lo.
— Obrigado, jovem — agradeceu Josip, virando-se depois para Vigor. — Suponho que já sabes a quem pertence o crânio. É o mesmo homem a quem outrora pertenceu a pele que encaderna o livro.
— Gengis Khan. As relíquias foram feitas com partes do seu corpo.
— Muito bem. Sabia que, com os teus conhecimentos, resolverias o enigma.
— Mas onde encontraste coisas tão macabras?
— Na sepultura de uma bruxa.
A doutora Shaw emitiu um ruído trocista. Não ficara convencida durante o voo, mesmo após Vigor lhe ter contado a história das relíquias. Era evidente que a sua determinação a prejudicava e ela desejava ansiosamente continuar a participar na missão secreta da Sigma à Mongólia.
Ignorando-a, Vigor encorajou Josip.
— Lembro-me de que estiveste na Hungria a investigar as perseguições às bruxas no século XVIII.
— Pois. Estive em Szeged, uma pequena povoação à beira do rio Tisza, no Sul da Hungria.
Josip enfatizou o nome do rio, fitando intensamente Vigor, como a dar-lhe uma dica. Algo acerca do nome provocou uma centelha de reconhecimento, mas ele não conseguia perceber porquê.
— Em julho de 1728 — prosseguiu Josip —, por alturas dessa caça às bruxas, doze habitantes foram condenados à fogueira numa pequena ilha no rio chamada Boszorkánysziget, que significa «ilha das bruxas»... por causa do grande número de inocentes que lá foram queimados.
— Que superstição absurda — resmungou Rachel, irritada.
Ao seu lado, Jada assentiu com a cabeça.
— Para dizer a verdade, a superstição teve pouco que ver. Estava-se numa longa seca que assolava a Hungria havia dez anos. O caudal dos rios diminuiu drasticamente, as terras cultivadas ficaram reduzidas a pó, a fome era endémica...
— E o povo necessitava de um bode expiatório — atalhou Vigor.
— Alguém para sacrificar. Mais de quatrocentas pessoas foram mortas nessa altura, mas nem tudo se deveu a superstições. Muitos funcionários públicos aproveitaram esse período sangrento para eliminar rivais ou se vingarem de maneira mesquinha.
— E os doze de Szeged? — perguntou Rachel, pronta para ouvir mais pormenores sobre esse caso antigo.
— Descobri uma cópia da transcrição original do julgamento num mosteiro dos arredores da cidade. Estavam menos interessados em bruxaria do que nos boatos que corriam sobre esses doze indivíduos terem descoberto um tesouro.
Quer fosse verdade ou não, eles recusaram falar. Outras pessoas testemunharam dizendo tê-los ouvido a falar de um crânio e de um livro encadernado com pele humana. Tais acusações acabaram por conduzi-los à fogueira.
Monk tamborilou um dos seus dedos protéticos na mesa.
— Está então a dizer que doze pessoas foram torturadas até à morte por causa de um tesouro perdido...
— Não se tratava de um tesouro qualquer.
Josip voltou a olhar intensamente para o monsenhor, como se esperasse que ele entendesse a sua críptica resposta.
Mas Vigor não entendeu. Permanecia perplexo e estava à beira de o admitir — mas, num repentino momento de discernimento, tudo fez sentido.
— O rio Tisza!
Josip sorriu.
— E então? — interveio Jada.
Vigor empertigou-se na cadeira.
— Não foi apenas o túmulo de Gengis Khan que desapareceu na neblina do tempo. A sepultura de outro guerreiro, um herói húngaro, também.
Rachel percebeu.
— Estás a falar de Átila, o Huno...
Vigor assentiu.
— Átila morreu a sangrar do nariz na noite do casamento em 453. Como sucedeu a Gengis Khan, os seus soldados enterraram-no em segredo com todos os tesouros pilhados e mataram todos os que conheciam o local do túmulo.
Conta-se que o corpo de Átila foi sepultado em três caixões enfiados uns nos outros. O primeiro de ouro, o segundo de prata e o último de ferro.
O dedo de Monk cessou de tamborilar.
— E nunca ninguém descobriu onde ele foi enterrado?
— Correram muitos boatos ao longo dos séculos. Mas a maior parte dos historiadores acredita que os soldados de Átila desviaram o curso do rio Tisza e o depositaram numa sepultura por baixo do leito do rio, deixando depois o rio seguir o seu curso original.
— Isso dificulta decerto a sua localização — admitiu Monk.
Dando conta de outra coisa, Vigor voltou-se para Josip.
— Espera lá! Mencionaste esse período de seca no século XVIII, o que causou a perseguição às bruxas...
— Quando o caudal dos rios diminuiu drasticamente — concordou Josip com um sorriso.
— Isso podia muito bem ter exposto a sepultura! — exclamou Vigor, imaginando as águas a recuar, revelando o segredo do túmulo do Huno. — Estás a dizer que alguém realmente o encontrou?
— E tentou manter o segredo — acrescentou Josip.
— Os doze conspiradores... os doze acusados de feitiçaria.
— Sim. — Josip encostou o cotovelo sobre a mesa. — Mas o que a população de Szeged não sabia era que havia uma décima terceira bruxa.
18h07
Duncan voltou para a biblioteca subterrânea e encontrou toda a gente em silêncio. Sentindo que não tinha ouvido algo importante, levou as duas relíquias ainda envoltas em espuma isoladora para a mesa. Preferia não as manipular diretamente com os seus dedos magnetizados.
— Que aconteceu? — perguntou num sussurro a Jada, inclinando-se.
Ela fez-lhe sinal para se calar, indicando-lhe o banco comprido.
— Que décima terceira bruxa? — perguntou monsenhor a Josip, sentando-se.
Duncan franziu a testa.
Sem dúvida, perdi parte da conversa.
18h09
Vigor aguardou a explicação de Josip.
— Descobri mediante os arquivos que o bispo de Szeged não tinha estado presente nesse julgamento — disse Josip. — O que, para um homem piedoso como ele, era raro... E achei isso estranho.
Realmente, era estranho, pensou o monsenhor.
— Por conseguinte, procurei os seus diários e encontrei-os na igreja franciscana da povoação, uma igreja que data dos princípios do século XVI.
Grande parte desses volumes estava danificada pela água ou fora destruída pelo bolor. Mas num dos diários vi o desenho de um crânio sobre um livro e lembrei-me das acusações feitas no decorrer do julgamento. Por baixo, estava escrito em latim... Perdoai-me, Senhor, pela ofensa, o meu silêncio e o que tenho de levar comigo para a sepultura.
Vigor adivinhou o que Josip fez a seguir.
— Procuraste então a sua sepultura.
— Os seus restos mortais jaziam num mausoléu por baixo da igreja. — As faces do amigo coraram de vergonha pelo que disse a seguir. — Não pedi autorização. Estava demasiado impaciente e seguro de mim mesmo.
Encontrava-me naquela fase maníaca em que todas as minhas ações pareciam ser as corretas.
Vigor aproximou-se de Josip e, tocando-lhe no braço, tranquilizou-o.
De olhos fitos na mesa, Josip confessou então o seu crime.
— Arrombei, a meio da noite, a entrada para o mausoléu.
— E foi aí que encontraste o crânio e o livro...
— Entre outras coisas.
— Que coisas?
— A confissão escrita pela mão do bispo, e selada num tubo de bronze, em que explicava como o lugar onde Átila estava enterrado tinha sido descoberto.
Um agricultor tropeçara no leito seco do rio e deparara com um túmulo, mas este estava vazio. Tinha sido pilhado há muito tempo. O agricultor encontrara apenas uma caixa de ferro, assente num pedestal, que continha algumas relíquias preciosas.
— O crânio e o livro...
— O medo supersticioso levou o agricultor a falar com o bispo. Julgava que tinha encontrado o sítio onde as bruxas costumavam reunir-se. Ao ouvi-lo, o bispo encarregou doze dos seus aliados mais fiéis de acompanhar o homem até ao local.
— Os mesmos doze indivíduos que foram mais tarde queimados na fogueira — deduziu Vigor.
— Exatamente. Esse grupo descobriu algo que quem tinha pilhado o túmulo perdera... Uma pulseira de ouro com a imagem esculpida da ave mítica fénix a combater demónios e o nome de Gengis Khan inscrito.
O que significa, então, que Gengis Khan descobriu o túmulo de Átila...?
Não era impossível, pensou Vigor. Os dois impérios — embora separados por séculos — sobrepunham-se geograficamente. Gengis Khan devia ter ouvido falar do túmulo de Átila e procurado os tesouros lá escondidos. As forças mongóis nunca subjugaram a Hungria, mas houve confrontos durante séculos e, no decorrer de uma dessas campanhas, algum prisioneiro deve ter falado e o túmulo foi pilhado.
Nada disto, claro está, respondia à pergunta mais importante.
Vigor fitou Josip.
— Mas como vão o crânio de Gengis Khan e um livro encadernado com a sua pele parar de novo ao antigo túmulo de Átila?
— Por causa de um aviso apocalíptico.
Josip fez um sinal a Sanjar, que, pelos vistos, aguardava isso mesmo, e trouxe uma resma de folhas de papel, cada uma protegida por uma capa de plástico, que pôs diante de Vigor.
— Isto também foi encontrado no túmulo de Átila.
Monsenhor lançou um olhar ao documento antigo, em que uma ténue caligrafia ainda era visível. Encarquilhando os olhos, distinguiu umas palavras escritas em latim.
Traduziu as primeiras linhas: «Este é o testamento de Ildiko, descendente do rei Gondioc da Borgonha, e estas são as minhas últimas palavras do passado para o futuro...»
Vigor reconheceu o nome.
— Ildiko é o nome da última mulher de Átila. Há quem acredite que ela envenenou o Huno na noite de núpcias.
— É o que ela confessa aqui. — Josip apontou para a resma de papel. — Lê.
Ela escreveu estas páginas enterrada viva nesse túmulo, junto do corpo de Átila.
Foi por ordem da Igreja que ela matou o marido.
— O quê? — A voz de Vigor tremeu de choque.
— O papa Leão I alistou-a, mediante intermediários, para recuperar o que fora oferecido a Átila no ano anterior, uma oferta para assustar o supersticioso rei dos hunos e afastá-lo dos portões de Roma.
Vigor tinha conhecimento desse encontro fatal.
— E o que lhe deu o pontífice?
— Uma caixa. Ou, antes, três caixas metidas umas nas outras. A do exterior é de ferro, seguida por uma de prata e a última de ouro.
Uma disposição igual à dos caixões de Átila.
Era a oferenda papal a origem dessa história? Ou tinha-a Átila copiado para a sua própria sepultura?
— O que estava dentro da caixa? — inquiriu Rachel, indo de imediato ao âmago da questão.
— Primeiro, um crânio com inscrições em aramaico.
Tratava-se da escrita que Vigor examinara em Roma.
— A caixa continha, então, a relíquia original, a que foi usada como modelo para o crânio de Gengis Khan...
Monk apontou com um polegar para os objetos embrulhados em espuma.
— Quer dizer, portanto, que o crânio de Gengis Khan era apenas uma cópia deste mais antigo. Porquê fazer isso?
Rachel explicou.
— Alguém queria apoderar-se do que estava escrito nesse primeiro crânio...
uma súplica para que o mundo não acabasse e sobrevivesse à marcha da história.
— Mas porquê? — interrompeu Jada em tom ofendido. — Porquê tanto esforço para preservar tal informação quando nada pode ser feito acerca dessa previsão apocalíptica?
— Quem disse que nada pode ser feito...? — atalhou Josip. — Eu disse que o crânio foi o primeiro dos objetos escondidos nessas três caixas.
— Que havia mais? — perguntou Vigor.
— Segundo Ildiko, as caixas vinham do Leste da Pérsia. Eram enviadas pela seita cristã nestoriana para Roma a fim de serem guardadas na Cidade Eterna, onde se esperava que o seu conteúdo fosse preservado até ao final dos tempos.
— Ou, pelo menos, até à data marcada no crânio — acrescentou Vigor.
Josip concordou, baixando a cabeça.
— O papa Leão deu este presente sem saber ao certo o que continha. Só depois de um emissário nestoriano chegar da Pérsia e ter contado a verdadeira história ao pontífice é que este percebeu o grave erro que cometera.
Monk fungou.
— E então mandou uma rapariga recuperá-lo.
— Deve ter sido o único meio ao seu dispor para se aproximar de Átila — ripostou Josip. — Mas ela falhou. Átila deve ter percebido o que era que lhe tinham oferecido e escondeu-o.
— O que era? — perguntou Vigor.
— Nas próprias palavras de Ildiko, uma cruz celestial esculpida de uma estrela que tinha caído na terra a oriente.
— Um meteorito! — exclamou Jada, endireitando-se na cadeira.
— Muito provavelmente — admitiu Josip. — Nessa estrela foi esculpida uma cruz, depois oferecida a um visitante santo que chegou a essas costas orientais, espalhando a palavra de um novo deus cujo filho ressuscitara.
Vigor voltou a olhar para as relíquias embrulhadas, imaginando o evangelho encadernado em pele humana.
— Estás a falar de São Tomé — disse, estupefacto. — O imperador chinês desses tempos deu-lhe essa cruz recentemente esculpida.
Os historiadores aceitavam de boa vontade que o apóstolo Tomé tinha viajado até à Índia, onde acabara por ser martirizado. Mas alguns eruditos acreditavam que ele tivesse chegado à China e até mesmo ao Japão.
Vigor não conseguiu ocultar o seu espanto.
— Estás a dizer que a caixa continha a cruz de São Tomé?
— E não somente a cruz — disse Josip.
Monsenhor encarou o olhar lacrimoso do amigo e percebeu a verdade.
Continha também o seu crânio.
Vigor perdeu momentaneamente a fala. Tinha esse conhecimento levado Josip à loucura? Ele próprio admitira ter começado a portar-se de modo irracional. Teria isto provocado uma crise psicótica total?
— No seu testamento, Ildiko afirma que São Tomé teve uma visão ao segurar essa cruz — prosseguiu Josip. — Viu a destruição do mundo e soube até mesmo a data em que isso sucederia. Esse conhecimento foi preservado por místicos cristãos após a sua morte.
— Inscrevendo-o no crânio do santo.
Josip anuiu.
— Como diz São Tomé, essa cruz celestial é a única arma que impede o mundo de acabar nessa data. E se não se sabe onde ela está, o mundo está condenado.
— E essa cruz foi enterrada com Átila? — perguntou Vigor.
Josip olhou para o documento.
— É o que Ildiko afirma. Enquanto estava fechada no túmulo, voltou a encontrar as caixas... mas agora com a cruz no interior. Escreveu o seu testamento esperando que alguém o encontrasse.
— Gengis Khan encontrou-o — comentou Vigor.
O silêncio pairou na sala durante uns instantes.
Por fim, Monk pigarreou.
— Então, vamos lá ver se nos entendemos. O papa deu por engano um tesouro a Átila. A conspiração para o recuperar falhou. Séculos mais tarde, Gengis Khan pilhou o túmulo de Átila, leu o testamento de Ildiko, encontrou a cruz e, ao morrer, usou o seu próprio corpo para preservar tal conhecimento.
— Não apenas preservá-lo — interveio Josip. — Creio que, ao propor-nos uma maneira de encontrar o sítio onde escondeu a cruz usando o seu próprio corpo como guia, deixou um plano para gerações futuras.
Vigor admitiu essa possibilidade.
— Gengis Khan sempre acreditou que o futuro lhe pertencia. E
considerando que, hoje em dia, um entre duzentos homens é seu descendente, ele pode ter tido razão. E gostaria certamente de proteger essa herança.
Josip concordou.
— Apesar da sua imagem de tirano sanguinário, ele também era um pensador progressista. O seu império teve o primeiro sistema postal internacional, criou o conceito de imunidade diplomática e até permitiu a presença de mulheres nos seus concílios. Mas, ainda mais importante, a tolerância religiosa reinava entre os mongóis, e na sua capital até havia uma igreja nestoriana. E talvez tivessem sido esses padres que ajudaram Gengis nesse caminho.
— Penso que tens razão quanto a essa última parte — concordou Vigor. — Os nestorianos exerceram enorme influência sobre Gengis Khan. Só o facto de ele usar a sua própria pele para preservar uma cópia do Evangelho de São Tomé constitui prova disso.
O instinto detetivesco de Rachel necessitava de mais provas.
— Isso é tudo muito bonito, mas alguma coisa dessas pode ser provada? Há alguma prova clara de que Gengis Khan tinha essa cruz em seu poder, um talismã para salvar o mundo...?
Josip apontou para Vigor.
— Ele tem provas.
Vigor sentiu-se como uma vítima falsamente acusada.
— Que queres dizer com isso? Onde é que as tenho?
— Nos arquivos secretos do Vaticano. És agora o diretor dessa biblioteca, não és?
Vigor deu voltas ao miolo para perceber o que Josip estava a insinuar — e, de repente, lembrou-se de um dos maiores tesouros dos arquivos.
— A carta do neto de Gengis Khan! — exclamou finalmente.
Josip cruzou os braços com ar vitorioso.
Vigor explicou então aos restantes.
— Em 1246, o neto de Gengis Khan, o Grande Khan Guyuk, enviou uma carta ao papa. Exigia que o pontífice se deslocasse à Mongólia para lhe prestar homenagem e avisava-o de que, se recusasse, o mundo sofreria consequências graves.
Rachel fitou-o.
— Não é uma prova definitiva, mas concordo que parece que o neto sabia que tinha o destino do mundo nas mãos, ou, pelo menos, no túmulo do avô.
Vigor encolheu ligeiramente os ombros.
— É possível que tencionasse devolvê-la ao papa se este fosse lá... O que, infelizmente, não aconteceu.
Duncan suspirou.
— Se tivesse ido, tornaria as coisas muito mais fáceis.
Monk encolheu pesadamente os ombros.
— Agradeço a lição de história, mas não vamos perder mais tempo, malta.
Há aí alguém que saiba explicar-me como com essa cruz se salva o mundo?
Vigor olhou para Josip, à espera de uma solução, e o amigo abanou com expressão derrotada a cabeça. A resposta veio da pessoa que menos se esperava, alguém que, desde o princípio, tivera tantas dúvidas como São Tomé.
A doutora Jada levantou a mão.
— Eu cá sei!
11
18 DE NOVEMBRO, 21H10, KST
PYONGYANG, COREIA DO NORTE
O chiar dos pneus do camião anunciou a sua chegada aos portões da prisão.
Escondido na parte de trás da viatura, Gray sentiu-se um pouco mais aliviado. A equipa de ataque escapara sã e salva do centro da capital e encontrava-se nos arredores pantanosos à beira do rio Taedong. Até aqui chegar, tinham encontrado algumas patrulhas, mas os membros das tríades que conduziam as motas tinham aberto caminho. Como as autoridades ainda andavam à procura do autocarro, o camião militar não levantava suspeitas.
No entanto, Gray sabia que tal sorte não duraria sempre. Tinham perdido metade dos homens no hotel e, se um dos que fora preso não resistisse, poderia revelar os planos do assalto ao inimigo.
Gray ouviu o motorista gritar para os soldados de guarda ao portão. A ideia era passarem por reforços enviados de Pyongyang para consolidar a segurança.
Os ruídos distantes das sirenes validavam tal reivindicação.
Passos e vozes ladearam o camião. Os guardas pareciam nervosos. Ainda desconheciam, muito provavelmente, o que se passava na capital.
De repente, o resguardo de lona da retaguarda foi levantado e a luz de uma lanterna iluminou o interior, encandeando-os e dando-lhe uma boa desculpa para tapar a cara ou desviá-la. Gray e Kowalski agacharam-se junto da cabina, escondendo os seus rostos bancos atrás do corpo dos outros.
Ao ver que só havia homens e mulheres vestidos com a farda norte-coreana, o guarda regressou à guarita.
O camião voltou a pôr-se em marcha com um ranger de mudanças. Rolava lentamente e Gray arriscou-se a espreitar por uma fresta para o exterior. A prisão ocupava uns quarenta hectares, era rodeada por uma cerca alta com rolos de arame farpado e tinha torres de vigilância a cada quarenta e cinco metros. O
interior do recinto era constituído por construções em cimento e fileiras de casernas de madeira.
Gray consultou o mapa. Tinha-o estudado à luz de uma pequena lanterna durante o trajeto. O centro de interrogatórios não ficava longe do portão principal. Era aí que, provavelmente, Seichan se encontrava detida.
Mas ainda lá estaria?
O veículo passou pelo portão exterior e atravessou um terreno minado antes de chegar à segunda cerca. O portão interior abriu-se igualmente para os receber.
As motas seguiam à frente do camião, um cavalo de Troia com rodas.
Depois de entrarem, as portas fecharam-se atrás deles.
Entrar era a parte mais fácil.
Arrancaram a tela alcatroada que escondia o seu arsenal: metralhadoras, lança-granadas e até mesmo um morteiro de 60 milímetros.
Kowalski pegou numa bazuca. Pôs o longo tubo ao ombro e agarrou na espingarda automática com a mão livre.
— Já me sinto vestido como deve ser — disse, a voz abafada pelo barulho do camião.
O veículo tomou a direção do centro de interrogatórios e estacionou à entrada com o motor a funcionar. Com um pouco de sorte, libertariam Seichan sem muito alarido e partiriam pelo mesmo caminho por que tinham vindo, explicando que tinham sido novamente chamados a Pyongyang.
Zhuang pôs a cabeça de fora para verificar se havia alguém. Convencido, fez sinal a Gray e a Guan-yin para avançarem. Agacharam-se junto ao resguardo de lona.
Gray examinou a fachada do centro de interrogatórios. O edifício de cimento tinha um andar e, a esta hora tardia, encontrava-se às escuras.
— Vamos! — disse, saltando para o exterior.
Correram para a entrada com o camião a bloquear a vista da porta da frente enquanto membros da tríade tomavam posições defensivas à volta e até mesmo por baixo do veículo.
Gray alcançou a porta e notou que estava aberta. Entrou de arma apontada, mas não viu nem ouviu ninguém.
Guan-yin veio ter com ele. Estava pálida e tinha os maxilares tensos. E só então ele se lembrou que a mãe de Seichan passara um ano terrível numa prisão como esta no Vietname. Olhou para a cicatriz que lhe marcava a face e a testa.
Pelo sobressalto que experimentou quando Zhuang lhe tocou no cotovelo ao chegar junto dela, a cicatriz que lhe desfigurava o rosto talvez fosse a menor das suas lesões.
— De acordo com este mapa — disse Gray, chamando-lhes a atenção para a tarefa que tinham entre mãos —, as celas e salas de interrogatório encontram-se no fundo.
Guan-yin assentiu tremulamente com a cabeça.
Os três avançaram, verificando todas as salas. No fim do corredor, viram uma luz que saía por uma porta entreaberta.
Gray encaminhou-se para lá, tentando detetar algum ruído.
O silêncio começava a enervá-lo.
Ao chegar à porta, espreitou lá para dentro. Era um espaço pequeno com cadeiras diante de uma janela que dava para outra sala.
Esgueirou-se cautelosamente e olhou pelo vidro, o qual, visto de onde ele se encontrava, era transparente, mas do outro lado deveria funcionar como espelho. Via-se um espetáculo estranho na bem iluminada sala contígua: dois homens caídos no chão rodeados por poças de sangue. Um deles era um guarda norte-coreano e o outro, conforme suposição de Gray por causa da bata branca que usava, devia ser um técnico de laboratório.
Duas outras pessoas partilhavam aquela sala com os mortos. Tudo levava a crer que estavam trancadas no interior, pois tentavam desesperadamente abrir a única porta. Tinham, pelos vistos, também tentado quebrar o espelho, mas fora em vão porque este era à prova de bala.
Apesar de um deles ter o nariz ligado, Gray reconheceu-o imediatamente.
Hwan Pak.
O outro era mais alto, tinha feições euro-asiáticas e barba escura. Lembrava-se de o ter visto numa rua em Macau a meter Seichan à força num Cadillac.
— É o Ju-long Delgado — disse Guan-yin, chegando-se ao pé dele.
Gray voltou a olhar para os dois homens no chão e reconheceu a mão de Seichan naquelas duas mortes.
— Temos um problema — disse, pensando nas dimensões da prisão. — A tua filha fugiu.
Para piorar ainda mais a situação, as sirenes começaram repentinamente a tocar, acompanhadas por uma voz que ladrava ordens por altifalante.
Gray virou-se para Guan-yin.
A sua presença tinha sido descoberta.
21h16
Atolada em sujeira, Seichan sentiu-se desesperada quando as sirenes desataram a tocar de modo ensurdecedor à sua volta.
Para se esconder, tinha rastejado por baixo de uma das casernas suportadas por estacas. O estabelecimento penitenciário fora construído em terrenos pantanosos à beira do rio Taedong, o qual inundava com regularidade as margens e requeria, por conseguinte, este tipo de construção.
Infelizmente, tinha sido tudo o que as autoridades planearam para manter os presos minimamente confortáveis. Não havia aquecimento, a ventilação era reduzida e, pelo fedor a amoníaco e outros odores fétidos que pairava no ar, as instalações sanitárias também deviam ser deficientes.
Há meia hora que ela estava ali a ouvir o som abafado dos presos: sussurros, choros, explosões de fúria e até mesmo as palavras doces de uma mãe a consolar o filho. Famílias inteiras encontravam-se encarceradas aqui. Algumas para serem reeducadas, mas a maioria fora condenada a trabalhos forçados.
A raiva queimava-lhe as veias. Foi a única coisa que a manteve quente quando a noite esfriou. Tinha escolhido este lugar para ver o que se passava à volta do portão principal na esperança de que Gray desse sinal de vida.
Vira há pouco um camião militar verde-escuro de transporte atravessar a cerca ladeado por motociclistas fardados. Trazia certamente reforços. Pior ainda: parou no lado mais sombrio do centro de interrogatórios.
Amaldiçoou a sua sorte.
E uns instantes depois, as sirenes tocaram. Imaginou que os recém-chegados tivessem encontrado Pak e Ju-long trancados na câmara de torturas, e que a sua fuga fora descoberta.
Enquanto o alarme soava, holofotes iluminavam a cerca. Todo o campo estava agora à procura dela.
Empunhou a pistola sem saber onde se esconder. Pensou em misturar-se com o resto dos presos, mas certamente um deles a denunciaria em troca de uma pequena recompensa.
Recuou para se distanciar dos portões principais e das luzes. A escuridão era a sua melhor defesa. Ao olhar para o fundo do campo prisional, avistou um tanque a atravessar o terreno lamacento na direção da saída para impedir qualquer fuga.
Correu curvada para as casernas mais próximas.
Há uns momentos, tinha suplicado que Gray viesse.
Mas agora esperava que ele se mantivesse longe dali.
21h18
Gray e Guan-yin correram para a entrada do centro de interrogatórios.
Zhuang ia à frente.
— Alguém deve ter dado com a língua nos dentes lá no hotel — disse Gray.
— Ou então alguém reparou na nossa manobra aqui — ripostou Guan-yin.
Pela sua expressão severa, via-se que recusava acreditar que algum dos seus homens capturados no hotel os denunciasse tão cedo.
Ao chegar à porta, Zhuang olhou lá para fora e fez-lhes sinal para se postarem ao lado dele. Olhando por cima do ombro do espadachim, Gray viu o campo, até então às escuras, iluminar-se repentinamente. À direita, os guardas norte-coreanos do portão andavam às voltas, em momentânea confusão.
Ninguém parecia prestar atenção ao camião onde tinham vindo nem aos soldados falsos.
— Ainda não deram por nós— declarou Gray com alívio. — No entanto, um dos vossos homens deve ter-lhes dito que o nosso objetivo era esta prisão.
— Mas não revelou de certeza todos os pormenores do nosso plano — insistiu Guan-yin, defendendo o homem que, muito provavelmente, estava a ser sujeito às mais bárbaras torturas.
— Pelo menos, ainda não... O que nos dá a vantagem da surpresa. — Gray observou a barafunda que reinava à entrada da prisão, sabendo que não iria durar muito tempo. — Temos de nos apoderar imediatamente do portão principal.
Guan-yin percebeu a tática que Gray queria usar.
— E mantê-lo até a minha filha ser encontrada.
Gray assentiu. Logo que entrassem em ação, seria um inferno. Mas não tinham escolha. Já não havia tempo para agirem de forma furtiva.
Virou-se para Guan-yin e Zhuang.
— Chamem os vossos homens... e ataquem o portão. Os tiros atrairão a atenção dos soldados e irá permitir que um pequeno grupo faça uma rápida busca em todo o campo.
Como resposta, Zhuang tirou silenciosamente a espada da bainha pendurada às costas.
Gray apontou para as motas.
— Eu e o Kowalski vamos levar duas das motas. Esquadrinharemos, separados, tanto terreno quanto pudermos. A Seichan está certamente a seguir o que está a suceder. Esperemos que nos reconheça...
Guan-yin trocou breves palavras com Zhuang, o qual, a seguir, foi a correr reunir o seu grupo de combate. E voltou-se depois de novo para Gray, apertando-lhe o braço com força.
— Encontra a minha filha.
— Hei de encontrá-la — prometeu ele.
Ou morrerei a tentar.
21h22
Seichan saiu a gatinhar de debaixo de outra caserna e endireitou-se. Tinha atravessado um terço do campo de concentração, passando por várias fileiras e mantendo-se na sombra, a qual, conforme se afastava da cerca, se tornava mais densa.
Ao virar-se, pronta para avançar em direção à caserna seguinte, uma enorme explosão abalou o campo. Viu uma coluna de fumo espesso elevar-se, iluminada pelos holofotes junto do portão principal.
Que raio...?
A metralha de tiros distantes chegou-lhe aos ouvidos.
Será o Gray?
Praguejando contra ele por tamanha loucura embora incontestavelmente aliviada, Seichan pôs-se a procurar um sítio de onde tivesse melhor perspetiva da entrada.
Acenderam-se subitamente luzes atrás dela. Distraída pela confusão que a rodeava e a excitação que sentia, só deu conta do perigo que corria tarde de mais. Um jipe lançava-se sobre ela, encandeando-a com os faróis. Atrás do veículo trotava um pelotão de soldados.
Momentaneamente paralisada pela luz, percebeu então que tinha na mão a pistola.
Verem uma prisioneira armada chamara a atenção dos militares.
21h23
Gray rolava ao lado de Kowalski. As duas motas afastavam-se do tiroteio e penetravam no interior do campo.
Pelo espelho retrovisor, Gray viu a explosão rebentar com o portão interior, mas o fumo impediu-o de ver os homens de Guan-yin acabar com os soldados aturdidos que restavam. A lâmina de aço de Zhuang cintilou brevemente por entre a fumarada, como um relâmpago no meio de uma trovoada.
Dois disparos de um lança-granadas-foguete deram conta das duas torres de vigia que ladeavam o portão, transformando-as em fachos brilhantes que enegreciam ainda mais o fumo. Tiros de espingardas apagaram os holofotes ao longo da cerca, mergulhando a entrada em profunda escuridão.
O tiroteio continuava. Gray acenou o braço, fazendo sinal a Kowalski para se separarem. O matulão ia procurar Seichan nas casernas à direita, enquanto Gray se ocuparia das que se encontravam à esquerda.
Depois de o parceiro partir, Gray curvou-se sobre a mota e acelerou. O fator da surpresa fora essencial para o ataque contra o portão ser bem-sucedido. Logo que os soldados norte-coreanos se recompusessem, eles não conseguiriam ocupar a prisão por muito tempo.
Perscrutou a escuridão entre as fileiras das casernas.
Onde estás, Seichan?
21h24
Aproveitando o choque momentâneo do pelotão norte-coreano, Seichan lançou-se de cabeça para a caserna mais próxima. Virou-se no ar e apontou a pistola para o jipe. Apertou o gatilho e disparou sem parar, acertando num farol e dispersando os soldados.
Ao cair, rolou por entre as estacas, escondendo-se na sombra. Tiros ricochetearam por trás dela.
Continuou a rastejar na lama até chegar ao outro lado e, sem parar, meteu-se por baixo de outra caserna.
Mas, entretanto, seguia o movimento dos soldados. O jipe passou velozmente, derrapando na curva para dar a volta e encurralá-la enquanto a tropa corria entre as casernas para impedir que ela escapasse.
A fuga de Seichan tinha-lhe dado, no melhor dos casos, apenas um minuto ou dois de liberdade. Os soldados acabariam por apanhá-la e, com apenas uma bala, não conseguiria defender-se.
Tinha de tentar outro esquema.
21h25
Apesar do roncar da mota, Gray ouviu tiros à sua esquerda, juntamente com gritos e vozes a darem ordens.
Ao lançar-se por um estreito espaço entre as casernas, avistou uma figura vestida com um imundo traje de prisioneira. Levou um segundo para reconhecer Seichan.
Graças a Deus...
Sentiu alívio, bem como algo mais profundo que lhe aqueceu o coração.
Ela estendeu um braço, como se estivesse a chamá-lo para o seu lado.
E só então Gray reparou que ela tinha uma pistola na mão.
Seichan apontou e premiu o gatilho.
21h26
Precisava urgentemente daquela mota.
Tinha ouvido o gemido roufenho do motor e aproximara-se, sabendo que era o único meio que tinha de escapar. Com uma única bala na pistola, não se atrevia a falhar. Postou-se a meio do caminho e disparou.
O motociclista foi atirado para trás e a mota chocou contra o lado de uma caserna. Atirando fora a arma, ela correu para a mota. Levantou-a, montou-a e ligou o motor que rugiu gloriosamente. Virou a mota.
O motorista ergueu-se apoiado num cotovelo e estendeu a mão para a espingarda automática.
Aquilo ali também me dava jeito, pensou ela.
Arrancou, estendendo o braço para apanhar a arma.
E então o motociclista virou o rosto dorido na sua direção.
Ela arquejou ao reconhecê-lo, cega a tudo menos àqueles olhos azuis tempestuosos.
Gray...
Travou com força quando chegou ao pé dele, derrapando de lado.
Ele levantou-se, com uma mão tentando estancar o sangue que escorria do ombro.
— Tens realmente de deixar de disparar contra mim — murmurou, recuperando a espingarda com a outra mão. — Da próxima vez, basta um simples olá.
Ela puxou-o contra si e beijou-lhe os lábios.
— Sim, é um pouco melhor... mas temos de praticar mais vezes.
Ela ouviu o jipe a aproximar-se.
E gritos.
— Agarra-te a mim! — disse-lhe em tom urgente.
Apesar da dor, Gray sentou-se atrás dela e passou-lhe um braço à volta da cintura enquanto disparava com a outra mão.
Pelo espelho retrovisor, viu os soldados dispersarem-se para procurar refúgio.
— Arranca! — disse-lhe.
Ela acelerou e a mota pulou como uma lebre.
Gray apertou o braço à volta dela.
Ela não sabia se conseguiriam fugir, mas tinha a certeza de uma coisa.
Desejava que ele nunca mais a largasse.
21h28
O ferimento no ombro de Gray ardia a cada solavanco. O sangue escorria quente pelo peito abaixo. Se ele não se tivesse instintivamente esquivado ao ver a pistola, Seichan ter-lhe-ia acertado em cheio no peito. Agarrou-se mais a ela com o braço dorido e, contorcendo-se no assento, segurou a espingarda com uma mão. Atirava ao acaso sempre que avistava alguém com a farda norte-coreana.
Às tantas, surgiu um jipe a uns trinta metros, com o farol que restava apontado para eles. Um soldado ao lado do condutor estava de pé com uma espingarda apoiada no para-brisas.
Gray disparou contra o jipe e deu cabo do outro farol.
O impacte obrigou o motorista a dar uma guinada ao volante, fazendo o colega falhar a pontaria. Balas perdidas arrancaram lascas às escadas de madeira de uma caserna e ouviram-se gritos de pânico vindos do interior.
— Vira à direita! — berrou a Seichan.
Ela fez a curva a tal velocidade que ele quase a largou. Recuperando o equilíbrio, Gray inclinou-se com as coxas firmemente apertadas contra o assento. Apontou com cuidado a arma ao pneu direito da frente e rebentou-o com uma saraivada de tiros.
— Esquerda! — ordenou depois a Seichan.
A mota inclinou-se para o outro lado e as balas silvaram à volta dele. Gray fez pontaria ao pneu esquerdo e, disparando outra rajada, transformou-o em confetes de borracha.
A trajetória do jipe, já um pouco instável depois de perder o primeiro pneu, tornou-se completamente ingovernável quando as jantes começaram a abrir sulcos na lama.
Com o jipe a arrastar-se atrás deles, Seichan acelerou em direção aos portões que se encontravam a cerca de cem metros à sua frente, enquanto Gray continuava a disparar para desencorajar qualquer retaliação.
De repente, Seichan travou com força, afocinhando a mota numa roda.
Gray virou-se a tempo de ver, à frente deles, um tanque de guerra a avançar para a entrada da prisão. Era um Chonma-ho de quarenta toneladas, e ocupava o caminho entre as casernas e os edifícios da administração.
O monstro ignorou-o ou supôs que eram aliados. O seu canhão de 115
milímetros estava apontado para o portão, pronto para acabar com aquela breve insurreição.
— Vê se consegues passar ao lado dele — disse Gray ao ouvido de Seichan.
A única esperança de fuga era chegar primeiro do que aquela criatura de aço ao portão principal.
Seichan debruçou-se sobre a mota e virou na primeira curva à esquerda, no estreito espaço entre as casernas. Com um ronco do motor, passou ao longo da primeira caserna e entrou na pista paralela à estrada principal, acelerando a fundo.
Gray entreviu o tanque a avançar ao longo da estrada.
Nunca conseguiremos.
Mesmo que o tanque não usasse o canhão, teriam dificuldade em ultrapassar o pesado Golias.
Quer dizer, até David aparecer.
Uma figura emergiu do fumo que envolvia o portão e precipitou-se em direção ao tanque. Era Kowalski montado na sua mota. Gray tinha-lhe enviado uma mensagem pelo rádio depois de ter encontrado Seichan, e agora tudo levava a crer que ele tinha uma solução para o problema do tanque de guerra.
Largando o guiador da mota, Kowalski levou a RPG-29 ao ombro e disparou, acertando em cheio no tanque.
A explosão soou como se a terra estivesse a estalar e foi acompanhada por chamas, fumo e uma chuva de aço em brasa.
Mas Kowalski desequilibrou-se e caiu de lado, derrapando em direção do tanque a arder que continuava a avançar, prestes a esmagá-lo.
Seichan passou então à frente do tanque e virou para a estrada principal. A sua ideia era obviamente socorrer Kowalski, mas ao chegar onde ele estava depois de atravessarem uma parede de fumo viram-no já de pé a correr para o portão.
O tipo era indestrutível.
O tanque fumegava meio carbonizado e já não constituía uma ameaça, mas eles ainda não estavam a salvo.
Chegaram aos portões um pouco antes de Kowalski.
— Da próxima vez... — articulou ele sem fôlego, apontando para Gray e Seichan. — Não cheguem atrasados.
O resto do comando preparava-se para partir.
E tinham bons motivos para isso.
Jipes e carros blindados avançavam na sua direção.
— Está na hora de irmos embora — disse Gray, mantendo-se sentado na mota com Seichan.
Um dos membros da tríade arranjou uma mota nova a Kowalski e deu-lhe uma palmada nos ombros largos num gesto de apreço.
O plano a seguir, daqui em diante, era voltarem de camião a Pyongyang, onde abandonariam a viatura e dispersariam, refugiando-se em casas seguras, e obter novos documentos chineses para atravessar a fronteira.
Gray e o seu grupo percorreriam de mota uma rota diferente, longe da capital.
Mas não iriam sozinhos.
Guan-yin avançou a coxear. Zhuang tinha um braço à volta da sua cintura e empunhava a espada na outra mão.
Seichan sentia-se tensa por reencontrar a mãe, mas agora não era altura para uma reunião de família. O ruído de detonações tornou isso evidente. No entanto, mãe e filha trocaram um olhar desajeitado e desconfortável por entre o fumo. Necessitavam obviamente de tempo.
Uma mota foi posta à disposição dos chefes da tríade. Embainhando a espada, Zhuang sentou-se à frente e Guan-yin instalou-se atrás dele sem tirar os olhos da filha.
Os restantes subiram para a retaguarda do camião.
O pesado veículo pôs-se em marcha e atravessou os portões, seguido pelas três motas. Uma vez fora do campo prisional, o grupo depressa ganhou velocidade. Quatrocentos metros depois, uma pequena estrada ao longo de um rio bifurcou da estrada principal.
Seichan tomou esse caminho, seguida pelos outros dois.
Enquanto o camião continuava rumo a Pyongyang, as três motas atravessaram os terrenos pantanosos à beira do rio Taedong. Iluminado por estrelas brilhantes e a cauda do cometa, o rio ia desaguar no mar Amarelo, apenas a cerca de cinquenta quilómetros de distância.
Gray reparou que Seichan olhava com frequência para o espelho retrovisor.
Sabia que ela observava a mãe, mas não abrandava e mantinha-se à frente dos outros, como se fosse perseguida pelos pântanos por um fantasma.
E talvez fosse.
O fantasma da mãe... uma aparição que era agora de carne e osso.
Mas qualquer reconciliação do passado e do presente deveria acontecer mais tarde.
Gray olhava em frente, sabendo que a tarefa que os aguardava não era fácil.
Apesar de terem conseguido escapar da prisão... ainda tinham de fugir da Coreia do Norte.
12
18 DE NOVEMBRO, 19H22, QYZT
MAR DE ARAL, CAZAQUISTÃO
— Quero experimentar uma coisa — disse Jada.
Perguntava a si mesma, pela primeira vez, se a vinda a este local árido com navios encalhados cobertos de ferrugem e varrido por rajadas de areia teria valido a pena. Interessava-se normalmente por história e aquela conversa a respeito de Átila e das relíquias de Gengis Khan tinha-lhe chamado a atenção.
Mas o que despertara a sua curiosidade tinha sido a cruz antiga feita de metal meteórico.
— Conforme nos contou — disse, dirigindo-se ao padre Josip —, a cruz é a única coisa que impedirá a catástrofe que há de acontecer na data inscrita no crânio.
Ele assentiu, lançando um olhar a um descolorido mapa dos céus pendurado na parede. Tinha constelações estilizadas e anotações astronómicas, e parecia datar dos tempo de Copérnico.
— Daqui a três dias pouco mais ou menos — confirmou ele.
— Certo. — Jada olhou para Monk. — E há outra fonte que anuncia um desastre de proporções idênticas, relacionado com o cometa, na mesma data.
Vigor e Rachel viraram-se na direção de Monk para saber o que ele pensava acerca do assunto, mas ele limitou-se a cruzar os braços.
Monsenhor soltou um suspiro, contrariado com o secretismo.
— Continue! — encorajou-a. — Disse que talvez soubesse como esta cruz poderia salvar o mundo.
— Trata-se apenas de uma conjetura — preveniu ela. — Mas primeiro quero experimentar uma coisa.
Voltou-se para Duncan.
Os olhos dos outros também se viraram para ele. Surpreendido e confuso, Duncan endireitou-se na cadeira.
— O quê?
— Não se importa de desembrulhar, por favor, o crânio e o livro? — pediu Jada. — E ponha-os em cima da mesa.
Esperou até ele fazer o que lhe pedira, reparando na expressão de desagrado com que Duncan manuseava as relíquias.
— Continua a sentir energia a emanar desses objetos, não continua?
— Sinto, sim — confirmou ele, esfregando as pontas dos dedos nas calças, como se tentasse livrar-se de tal sensação.
Jada encarou os dois padres.
— Gengis Khan encontrou essa cruz no túmulo de Átila... É possível que o Huno a usasse como talismã?
Vigor encolheu os ombros.
— Após ter lido o que Ildiko escreveu quanto à sua importância, julgo que seja bastante provável.
— E Gengis Khan podia muito bem ter considerado seu dever proteger a cruz enquanto estivesse vivo — concordou Josip.
— E, se calhar, até mesmo depois — acrescentou Vigor, fazendo um gesto para o crânio e o livro.
— Está a sugerir... — prosseguiu o monsenhor, observando-a — ... que a cruz contaminou o corpo dele... Como se fosse radioativa?
— Não creio que seja radioativa — respondeu ela, ansiosa por confirmar isso examinando o crânio com os instrumentos que deixara a bordo do helicóptero.
— Mas penso que a energia que emana dela deixou vestígios no corpo, alterando-lhe o tecido no plano quântico.
— Que espécie de energia faria tal coisa? — perguntou Rachel.
— A energia negra — respondeu Jada, satisfeita por mudar de assunto e falar de ciência em vez de história. — Uma energia associada ao nascimento do nosso universo. Apesar de ser setenta por cento de toda a energia deixada após o Big Bang, ainda não sabemos o que é nem de onde vem e só temos conhecimento de que é uma propriedade fundamental da existência. E explica por que razão o universo está a expandir-se a ritmo acelerado e não a abrandar.
Vigor franziu uma sobrancelha.
— E acha que a cruz possui essa energia? Que é como uma bateria...?
— De forma muito rudimentar, sim. É possível... Não posso ter a certeza sem a examinar, mas essa matéria é precisamente a minha especialidade. Os meus cálculos teóricos sugerem que a energia negra é o resultado de as partículas virtuais se exterminarem umas às outras na espuma quântica que enche todo o espaço e o tempo do universo.
A expressão vazia com que todos a fitaram levou-a a simplificar.
— É o próprio tecido do espaço-tempo. A energia negra é a força motriz por trás da mecânica quântica, uma energia ligada a todas as forças fundamentais do universo. Força eletromagnética, força nuclear fraca e forte, tudo o que cause a atração entre os objetos.
— Como a força da gravidade...? — perguntou Duncan.
Jada tocou-lhe no ombro num agradecimento mudo.
— Exatamente. A energia negra e a gravidade são conceitos intimamente ligados.
Rachel olhou Monk de esguelha e depois virou-se para Jada. Com a sua mente de investigadora, confrontou logo o segredo que lhes era ocultado.
— Sem querer menosprezar o assunto, porque acha que a cruz emite energia negra?
— Porque o cometa que atravessa atualmente o céu está a fazer exatamente isso.
Como a sua resposta agitou toda a gente, ela lançou um olhar a Monk, sabendo que tinha ultrapassado um limite. No entanto, a pergunta de Rachel merecia uma resposta. Ela possuía uma mente analítica que Jada começava a respeitar. Era disparatado mantê-la na ignorância.
Monk encolheu ligeiramente os ombros, dando a Jada uma certa margem de
manobra.
Jada explicou:
— Ou, pelo menos, a sua trajetória dá mostras de certas anomalias gravitacionais que correspondem exatamente aos meus cálculos teóricos.
— E a cruz? — perguntou Josip.
— Você disse-nos que tinha sido esculpida de uma estrela cadente. Um meteorito. — Reviu a chuva de meteoros nas imagens tiradas no Alasca. — Pergunto a mim mesma se esse meteorito não será um fragmento do cometa que caiu na Terra quando da sua última passagem por aqui.
Rachel considerou essa possibilidade, e depois perguntou.
— Quando fez esse cometa a sua última aparição?
— Há aproximadamente dois mil e oitocentos anos.
— Por volta do ano 800 antes da era cristã. — Rachel virou-se para Josip. — Isso relaciona-se com alguma coisa que saiba acerca da cruz?
Ele esfregou o queixo com ar confuso.
— Ildiko apenas diz que a cruz veio de uma estrela caída muito antes de São Tomé ter chegado ao Oriente.
Isto era dececionante. Era necessário obter uma confirmação definitiva.
Josip endireitou-se de súbito.
— Espere um pouco! — Percorreu atabalhoadamente o pergaminho deixado por Ildiko. — Veja isto aqui!
19h38
Quando Josip tirou um pergaminho de cima da mesa, Vigor levantou-se para ver melhor.
— No dizer de Ildiko — continuou Josip. — Estes três símbolos estavam gravados nas caixas que guardavam o crânio e a cruz.
Vigor ajustou os óculos e distinguiu o que pareciam ser caracteres chineses muito ténues com palavras em latim escritas por baixo.
Monsenhor debruçou-se para examinar os símbolos mais de perto e traduzir o latim.
— O primeiro diz por baixo «duas árvores».
E, de facto, parecia um par de árvores.
— O seguinte significa «ordenar». E o último, «proibido».
— Repara como os primeiros dois símbolos se combinam para formar o terceiro — interveio Josip. — Aquele que tem escrito «proibido».
Vigor viu isso, mas não compreendeu o significado.
— Agora lê isto aqui — insistiu Josip. — O que a Ildiko escreveu por baixo dos símbolos.
Essas linhas ainda eram mais ténues, mas ele reconheceu dois trechos do Antigo Testamento, em latim, ambos do Génesis.
Traduziu o primeiro em voz alta.
— «E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: “Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim; mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, no dia em que o comeres, certamente morrerás.”»
Vigor leu as linhas seguintes. Era a proibição de comer de outra árvore — a árvore da Vida do jardim do Paraíso.
— «Eis que o homem, quanto ao conhecimento do bem e do mal, se tornou como um de nós. Agora é preciso que ele não estenda a mão para se apoderar também do fruto da árvore da Vida e, comendo dele, viva para sempre.»
Antes de ele terminar, Josip arrancou-lhe possessivamente o pergaminho das mãos.
— A escrita chinesa mais antiga usava imagens para representar palavras e ideias, e frequentemente combinava símbolos simples para formar conceitos mais complexos.
Vigor lançou um olhar ao que Ildiko escrevera.
— Mas isto parece insinuar que os chineses antigos estavam a par do Génesis e da história acerca das duas árvores que Deus ordenou que fossem proibidas ao homem.
— Tenho outros exemplos. — E Josip precipitou-se para as resmas de papel empilhadas sobre a secretária ao lado.
Entretanto, monsenhor examinou os pergaminhos deixados em cima da mesa. Podiam os antigos chineses ter sabido dos acontecimentos descritos no Génesis? A língua chinesa datava de há quatro mil anos e era a mais antiga de todas.
Josip voltou.
— Só encontrei dois exemplos, mas tenho mais.
Pôs a primeira folha sobre a mesa.
O caracter chinês para «homem» combinado com o de «fruto» torna-se o sinal para «nu». Até mesmo Vigor percebia a referência aqui ilustrada.
Génesis 3, 6-7.
Citou em voz alta: — «... agarrou do fruto, comeu, deu dele também a seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Então, abriram-se os olhos aos dois, e reconheceram que estavam nus.»
Josip assentiu vigorosamente com a cabeça e substituiu a página por outra.
— Eis mais uma.
O amigo passou um dedo ao longo da ilustração.
— Aqui temos os caracteres chineses antigos para «vivo», «pó» e outra variante de «homem». Juntos formam o carácter de «primeiro».
Olhou com impaciência para monsenhor.
— Mais uma citação do Génesis — disse Vigor. — Uma referência a Adão, o primeiro homem que Deus criou.
— Do pó — acrescentou Josip, batendo com um dedo sobre o símbolo correspondente. — Posso mostrar-te mais.
De olhos brilhantes por um entusiasmo obstinado, parecia pronto a fazer o que dizia, mas Vigor estendeu a mão sossegando-o.
— Não sei se estamos a ir longe de mais com isto, mas qual é a relação disto com a pergunta da doutora Shaw quanto à data da queda do meteorito que se tornou a cruz de São Tomé?
— Ah! — exclamou ele, abanando a cabeça. — Desculpem... As relíquias de São Tomé... as caixas, o crânio e a cruz... foram feitos por nestorianos do Oriente. Foram eles quem inscreveu esses símbolos nas caixas.
— Nestorianos...? — inquiriu Jada. — Não estou muito familiarizada com as antigas seitas cristãs.
Vigor sorriu-lhe.
— O nestorianismo nasceu em princípios do século V, pouco antes da subida ao poder de Átila, o Flagelo de Deus. Foi fundado por Nestor, ao tempo patriarca de Constantinopla, que causou uma cisão na Igreja ao dizer que a pessoa humana e a divina de Cristo eram separadas. Tal pensamento foi considerado herético, mas depois disso o nestorianismo espalhou-se pela Pérsia, Índia, Ásia Central e até mesmo pela China, por volta do século VII.
— O que nos traz de volta ao meu ponto de vista — atalhou Josip. — Julgo que as inscrições chinesas feitas no relicário pelos padres nestorianos serviam vários objetivos.
Monsenhor fitou-o, esperando que ele continuasse. O padre pareceu ficar perdido por uns instantes, a olhar o vazio.
Mas depois prosseguiu a conversa como se nada se tivesse passado.
— Primeiro — disse, contando pelos dedos —, acredito que confirmam o facto de São Tomé chegar realmente à China. Segundo, penso que tentavam insinuar que a escrita chinesa descoberta no Extremo Oriente continha indicações quanto à veracidade do Antigo Testamento, uma verdade enterrada na sua escrita antiga. E, terceiro, estavam a partilhar informação acerca da idade avançada da cruz.
Olhou significativamente para Jada.
— Como assim? — perguntou ela.
— Porque emparelharam a cruz com uma referência ao Génesis. Julgo que esses padres nestorianos ouviram os chineses falar acerca da estrela cadente. Eles contaram-lhes que o meteorito tinha caído em tempos antigos e foi assim que começaram a venerar a origem da cruz.
Pensativa, Jada cerrou os lábios.
— No entanto, isso não confirma uma data que coincida com a última vez que o cometa apareceu. Concordo que os nestorianos acreditavam que era antigo. Biblicamente antigo. Mas tudo isto baseia-se em conjeturas. Não posso sustentar a sua ligação com o cometa até examinar a cruz.
Vigor assentiu.
— O que nos conduz à pergunta mais importante... Onde está essa cruz agora?
19h55
Duncan escutava o debate com meio ouvido. Enquanto os outros discutiam, ele remexia nas relíquias pousadas na mesa, testando a estranha energia elétrica que emanava delas.
— A cruz deve estar no túmulo de Gengis Khan — repetiu Josip. — Se encontrarmos o túmulo, encontraremos a cruz.
— Tens provavelmente razão — concordou o monsenhor. — Se os ossos e partes do corpo constituem uma pista, é decerto para nos conduzir ao túmulo.
Duncan passou a mão pela calota do velho crânio e as pontas dos dedos registaram o campo eletromagnético. Pele de galinha arrepiou-lhe os braços enquanto ele refletia sobre o facto de Jada acreditar que se tratava de energia negra. Como era formado em física e engenharia elétrica, tinha visto os cálculos de Jada incluídos no dossiê da missão que lhe fora fornecido. Eram tão elegantes e atraentes como a mulher que os fizera.
Sentindo um arrepio, afastou o crânio e pousou as mãos sobre o livro.
Vigor andava em volta da mesa.
— E é disso que tens andado à procura ao longo de todos estes anos, Josip?
— Depois de encontrar as relíquias, o meu estado mental não era lá muito bom. A vergonha, o medo e a paranoia arrastavam-me numa espiral. Precisava de um lugar sossegado para pensar e me orientar.
Duncan não precisava de ser psiquiatra para perceber que o padre sofria de alguma doença mental crónica. Era um tratado de tiques emocionais.
— E depois de desaparecer da face da terra, era mais fácil ficar aqui — explicou. — E trabalhar em sossego. Isto tornou-se o exílio que impus a mim mesmo, um mosteiro onde podia viver isolado.
— Escolheu um excelente sítio para viver sozinho — interveio Monk. — Não se pode estar mais perto do centro de nada.
— Não foi apenas o isolamento que me atraiu para o mar de Aral. Talvez ao princípio, mas depois percebi que, algures no meu cérebro febril, algo estava a fazer conexões que só mais tarde me chegaram à consciência. Como inúmeras vezes no passado, descobri que as minhas fases maníacas não são isentas de benefícios.
Ah, ele é bipolar, pensou Duncan. Devia ter percebido os sintomas. Tinha um amigo na universidade que sofria do mesmo mal. Não era fácil de suportar.
— Que conexões fizeste? — perguntou o monsenhor.
Josip apontou para as relíquias.
— Temos aqui o crânio de Gengis Khan e, pelo olho na capa do evangelho, sabemos que o livro foi encadernado com pele do rosto e da cabeça.
Duncan teve um pequeno sobressalto ao dar conta que, naquele instante, as pontas dos seus dedos pairavam sobre o livro. Mas uma curiosidade macabra fê-
lo debruçar-se ainda mais, à procura do olho.
— Por outras palavras — continuou o padre —, as relíquias vêm de toda a cabeça de Gengis Khan, desde o pescoço.
— Tens razão — murmurou Vigor. — Não dei conta disso.
— Às vezes, um pouco de loucura é bom. Acabei por chegar aqui numa fase maníaca. E só mais tarde percebi porquê. Devia estar aqui.
— E por que razão? — insistiu o monsenhor.
— Creio que existem mais relíquias. E não apenas estas duas.
— Como migalhas a indicar-nos um caminho... — comentou Rachel.
— O filho de Gengis Khan deixou as relíquias da cabeça do pai, a marcar a fronteira ocidental do império do filho, império esse que herdara do pai. Mas porquê apenas esses objetos? Não fazia sentido. Ao longo do tempo, cheguei a uma teoria diferente, que julgo estar certa. Creio que Gengis Khan deu instruções ao filho para fazer de todo o mundo conhecido a sua sepultura e espalhar a sua mensagem espiritual de uma ponta à outra do império mongol.
— Isso está de acordo com o estilo de Gengis Khan — concordou Vigor. — Mandou pôr a sua cabeça numa extremidade...
— Na Hungria, no túmulo de Átila — atalhou Josip com um assentir de cabeça. — Mas onde fica a outra?
— Aqui...? — perguntou Jada.
O padre anuiu.
— A região em torno do mar de Aral era a fronteira mais a ocidente do império mongol na época do reinado de Gengis Khan. Um sítio importante.
Assim, parecia o lugar ideal para começar à procura.
Vigor virou-se, olhando à volta da sala.
— Tens andado em busca destas relíquias perdidas todo este tempo?
— É uma extensão enorme. E o terreno sofreu alterações drásticas após o mar secar. — Josip afastou-se e regressou pouco depois com um mapa que desdobrou em cima da mesa. — Eis como era o mar de Aral antigamente.
Duncan endireitou-se e fitou o vasto corpo de água. Depois voltou a concentrar a sua atenção no livro, notando algo de estranho.
— Aral significa «mar de ilhas» — explicou o padre. — Em determinada altura, havia mil e quinhentas ilhas. Deduzi que a próxima relíquia de Gengis Khan seria encontrada numa delas.
— E, por conseguinte, andaste a esquadrinhá-las uma a uma? — insinuou Vigor.
— Com a ajuda dele — explicou Josip, indicando Sanjar.
— E como pagou todo esse trabalho? — inquiriu Monk.
Era uma boa pergunta.
O padre baixou os olhos. Era evidente que não desejava responder a tal pergunta.
Foi salvo pelo monsenhor.
— Disseste que o bispo húngaro tinha encontrado no túmulo de Átila uma bracelete de ouro com o nome de Gengis Khan lá inscrito e a imagem de uma ave a combater demónios.
Josip fraquejou.
— Vendi-o na Mongólia a uma pessoa muito rica que a adquiriu para a sua coleção privada. Sei que assim essa peça histórica será bem guardada.
Rachel franziu a testa. O seu trabalho na polícia tinha especificamente que ver com a venda ilegal de antiguidades.
— Qual o nome dessa pessoa?
O padre furtou-se à resposta.
E Vigor não insistiu.
— Não importa.
Josip explicou-se: — Por favor, não culpem o comprador. Fui eu quem o aliciou e ele adquiriu a peça unicamente para preservar o património histórico do seu país.
Monk voltou ao assunto anterior.
— Mesmo que a pista a seguir esteja aqui, não creio que a descubramos a tempo. Vai ser como procurar uma agulha num palheiro muito seco.
— Esperei tempo de mais — concordou Josip.
— Então, talvez devamos continuar simplesmente a nossa viagem até à Mongólia — disse Jada sem parecer muito desagradada com a ideia.
Enquanto aquela troca de palavras ia tomando o rumo da derrota, Duncan passou mais uma vez as mãos por cima do livro para se certificar antes de abrir a boca.
Satisfeito, deixou um dedo a planar sobre um determinado lugar na capa.
— Monsenhor Verona... quer dizer, Vigor... é aqui que se encontra o olho que mencionou?
Vigor aproximou-se e olhou por cima do ombro de Duncan.
— É, sim. Sei que é difícil de ver. Só dei por isso com ajuda de uma lente.
Duncan tornou a passar o dedo por cima do livro, traçando a superfície do campo de energia. Ao chegar perto do olho, o dedo levantou-se e, depois de o passar, tornou a baixar.
— Não sei se tem importância, mas a energia é mais forte por cima do olho.
Sinto o efeito do seu campo eletromagnético. É muito forte.
Vigor enrugou a testa.
— Por que razão?
Jada posicionou-se junto do outro ombro de Duncan, trazendo com ela uma baforada de flores de macieira.
— Disseste que o crânio tinha um campo significativamente mais forte do que a pele. E eu supus que se tratava de um reflexo da massa. Mais massa, mais energia.
Duncan assentiu com um movimento de cabeça. Adorava ouvi-la falar de questões científicas.
— Isso deve querer dizer que este sítio da capa tem mais massa do que o resto da superfície.
— O que estão vocês para aí a dizer? — perguntou Vigor.
Duncan virou-se para ele.
— Há algo escondido debaixo do olho.
O padre Josip sobressaltou-se.
— Nunca vi o que era. O livro foi radiografado, mas não se registou nenhuma anormalidade.
Jada encolheu os ombros.
— Se é um tecido delicado, como a pele, poderia muito bem não ser detetado pelos raios X.
— Temos de abrir esse olho — disse Monk.
— Vou buscar os meus instrumentos — disse o padre Josip, saindo apressadamente da sala.
Vigor abanou a cabeça.
— Devia ter pensado nisso. A mensagem essencial do Evangelho de São Tomé é que o caminho de Deus está aberto a quem o procure. Procura e encontrarás.
— Tudo o que se tem de fazer é abrir os olhos — acrescentou Rachel.
Josip regressou com x-ato, pinças e fórceps para uma cirurgia oftalmológica.
Duncan afastou-se para dar espaço a Josip e Vigor. Os dois arqueólogos cortaram os fios que há séculos e séculos mantinham o olho fechado. As pálpebras estavam demasiado secas para abrirem, pelo que recortaram um círculo à volta do olho.
Um temor respeitoso enchia a voz de Vigor.
— Arranja-me...
Josip passou-lhe uma lente.
— Obrigado.
Monsenhor debruçou-se do buraco que tinham aberto na capa do livro.
— Vejo o que parecem ser os restos ressequidos de papilas à superfície.
Penso que o tecido escondido é uma delgada fatia de língua mumificada.
— Oh, formidável! — gemeu Jada, recuando. A sua curiosidade científica tinha limites.
— Tatuaram a superfície — informou Josip. — Venham ver.
Duncan inclinou-se enquanto Vigor segurava a lente. À superfície do tecido curtido via-se distintamente um desenho traçado a preto.
— É um mapa! — exclamou Duncan em voz alta, reconhecendo a semelhança entre aquilo e o mapa que Josip mostrara há pouco. — Um mapa do mar de Aral.
Rachel não parecia mais contente do que Jada.
— Desenhado na língua?
Josip olhou para ela. A excitação febril brilhava no seu rosto.
— Gengis Khan está a dizer-nos para onde ir.
Vigor confirmou.
— Uma das ilhas está tatuada a vermelho com a palavra equus escrita por baixo. Significa «cavalo», em latim.
— Os cavalos eram extremamente valiosos entre os mongóis — disse Josip.
— Eram literalmente o sangue vital dos cavaleiros. Os guerreiros bebiam com frequência o sangue das suas montadas nas viagens longas ou fermentavam o leite das éguas para fazer araq, uma bebida alcoólica muito forte. Sem cavalos...
Um ruído à porta fê-los virar a cabeça.
Josip reagiu de modo visivelmente tenso, mas quando a imponente figura entrou, relaxou e saudou o recém-chegado com um largo sorriso.
— Voltaste! E em excelente altura. Temos notícias fantásticas!
O padre avançou e abraçou o jovem, o qual, com o mesmo gosto por coletes de pele de carneiro e calças largas, podia ser irmão de Sanjar. Só que tinha deixado o falcão em casa.
Josip conduziu o forasteiro para junto da mesa.
— Este aqui é um bom amigo e o chefe da equipa de escavações. — Deu-lhe uma palmada no ombro. — Chama-se Arslan.
13
18 DE NOVEMBRO, 22H17, ULAT
ULAN BATOR, MONGÓLIA
Batukhan estava de pé no meio da galeria vestido com um roupão grosso e chinelos. Tinha passado o último quarto de hora a andar por entre a sua coleção, algo que fazia quando estava com disposição contemplativa.
Possuía tesouros da época dourada da Mongólia: joias, máscaras fúnebres, instrumentos musicais e cerâmica. Uma parede exibia uma série de arcos antigos outrora manipulados por guerreiros mongóis — desde pequenos e curvos usados a cavalo feitos com tendões e corno, até às enormes bestas triplas para conquistar cidade muradas. Tinha mais armas, incluindo machados, cimitarras e lanças.
Tal coleção não era apenas para exibição.
Passava longas horas a treinar ao modo antigo nas estepes à volta da cidade com camaradas do Lobo Azul, montados a cavalo e vestidos com trajes tradicionais de seda cobertos de cabedal impregnado de laca e capacetes de ferro. Como todos os seus homens, sabia manejar com perícia os arcos ligeiros e pesados mongóis.
Fitou a sua coleção. Para acomodar o crescente número de peças, transformara o segundo andar do apartamento no seu museu particular. Uma série de janelas dava para a praça do parlamento profusamente iluminada e oferecia uma vista espetacular das estrelas e do cometa no céu noturno.
Naquele momento, contudo, concentrava-se numa pequena caixa que continha uma bracelete de ouro decorada com uma ave a ser assaltada por demónios. Tinha comprado este requintado trabalho ao padre Josip no tempo em que o considerava um mero traficante de antiguidades, um louco em pleno deserto.
Mas, no fim, o homem demonstrara ser muito mais do que parecia.
Assim como o resto da coleção, a bracelete de ouro não servia apenas para ser exibida. Usava-a por vezes orgulhosamente junto dos companheiros, sabendo que outrora tinha adornado o pulso de Gengis Khan em pessoa.
Por tal privilégio, Batukhan tinha pago uma fortuna pela relíquia de ouro — embora esse dinheiro tivesse sido esbanjado pelo padre em centenas de buracos no deserto.
Que desperdício.
O telemóvel tocou no seu bolso. Atendeu imediatamente, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar quem lhe telefonava.
— Conseguiste contactar o padre Josip? Os italianos estão lá?
O seu interlocutor estava pelos vistos habituado aos modos bruscos de Batukhan e respondeu no mesmo tom.
— Estão cá, sim. Juntamente com três americanos.
— Também arqueólogos?
— Não creio. Têm aspeto de ser militares... Pelo menos os homens.
— Achas que isso vai causar qualquer problema?
— Não. O meu grupo está a contar com eles. Estamos quase prontos. Mas fica a saber que o padre Josip julga ter uma pista importante que poderá conduzir à descoberta do túmulo do grande imperador. Estão todos muito entusiasmados e querem partir esta noite.
Uma pista importante...
Batukhan voltou a contemplar o seu museu. Era uma pálida imagem da riqueza e maravilhas que poderiam ser encontradas no túmulo perdido de Gengis Khan.
— Descobre qual é a pista — ordenou Batukhan. — E deixa-os investigar. Se eles descobrirem alguma coisa, certifica-te de que fica segura. Depois... e se não encontrarem nada... procede de acordo com o plano. Enterra-os a todos debaixo do navio abandonado.
— Assim farei.
Batukhan não teve quaisquer dúvidas quanto a isso.
Arslan nunca o dececionara.
14
18 DE NOVEMBRO, 23H22, KST
RIO TAEDONG, COREIA DO NORTE
Gray avançava velozmente ao longo da estrada à beira-rio com o farol da frente apagado — as duas outras motas seguiam-no também às escuras.
Vegetação alta e salgueiros ocultavam o seu percurso de Pyongyang ao mar Amarelo a oeste. Sem luar e somente com a luz das estrelas e o clarão do cometa a iluminar-lhes o caminho, o seu progresso era terrivelmente lento.
E o facto de o ombro de Gray arder não melhorava a situação. Há meia hora, Seichan tinha feito uma breve paragem para limpar o ferimento, pôr uma nova ligadura e injetar-lhe analgésicos e antibióticos, enquanto os outros ficavam de guarda um pouco mais adiante.
Como fora ela quem lhe tinha dado um tiro, era o mínimo que podia fazer.
Por sorte, a ferida não era funda. Os medicamentos atenuaram a dor e ele conduziu a mota na última etapa da viagem, pois não queria que o braço anquilosasse com o frio. Não sabia o que iriam enfrentar ao chegar à costa.
À esquerda, a vastidão do rio Taedong refletia a luz das estrelas, serpenteando desde a sua fonte no alto das montanhas, a norte, e pela capital até desaguar no mar. Evitaram quanto possível os complexos industriais ao longo do caminho, mantendo-se nas estradas secundárias.
A cidade de Nampho brilhava à distância, assinalando a foz do rio. Gray usou a sua localização para se orientar. Um caminho rural desviava-se do rio.
Abrandou para verificar o GPS à volta do pulso. A distância de Pyongyang até à costa era apenas de uns cinquenta quilómetros em linha reta, enquanto de mota, no meio da escuridão e às curvas por lama ou carreiros de cascalho, parecia dez vezes mais.
Estavam, contudo, quase a chegar e não queriam falhar o encontro à meia-noite na praia. E só teriam esta oportunidade.
Gray apontou para a estrada lateral, fazendo uma careta de dor, e chamou os outros.
— É por aqui! Deve conduzir diretamente ao mar.
Com um ronco do motor, virou a mota e seguiu naquela direção. Era mais uma série de poças e pedregulhos do que uma estrada. Avançaram o mais rapidamente que podiam. Gray encontrou terreno mais firme rolando à beira da estrada onde a terra não tinha sido tão revolvida por tratores e outro equipamento agrícola.
Com o início da estação de inverno, os campos à volta deles estavam em pousio e tinham os sulcos cheios de geada. Cercas de arame farpado elevavam-se de ambos os lados.
Gray sentiu-se exposto em campo aberto.
Até mesmo o ronco das motas parecia mais forte e ecoava sobre os campos vazios, mas faltava-lhes poucos quilómetros para chegarem ao seu destino.
Ouviram então um novo ruído, um ruído inquietante.
Gray abrandou, esticando o pescoço para perscrutar o céu.
Seichan apontou para sudeste. Uma sombra escura, a sua silhueta recortada pelo clarão de Nampho, passou por cima dos terrenos áridos.
Tratava-se de um helicóptero a sobrevoar de luzes apagadas.
Não estaria com essas manobras se não tivesse já marcado um alvo. Voava no meio da escuridão, tentando aproximar-se deles sem, tanto quanto lhe era possível, ser visto.
Gray depreendeu que tinham dado com eles.
Alguém em Pyongyang devia ter assinalado esta rota ou então um agricultor denunciara a passagem de três motociclistas à noite. E não havia sítio onde pudessem esconder-se.
Sabendo que o helicóptero estava provavelmente equipado com visão noturna, Gray acendeu o farol para iluminar a estrada. Tinha de fugir dali o mais depressa possível.
— Sigam-me! — gritou aos companheiros, acelerando.
As luzes dos outros acenderam-se atrás dele.
A sudeste, o céu iluminou-se com as luzes de navegação do helicóptero. Um raio de luz varreu o terreno em busca deles.
Gray avançou velozmente ao longo da beira do caminho, enquanto Kowalski tomava o outro lado, seguido de perto por Zhuang e Guan-yin. Não tinham meios para combater o helicóptero, pois tinham usado na prisão todos os morteiros. E todo o restante armamento pesado partira no camião.
Sentada atrás de Gray, Seichan virou-se, apontou a espingarda e disparou uma rajada.
O helicóptero oscilou, mas somente devido à surpresa.
A distração, contudo, permitiu-lhes aumentar a distância.
Kowalski tomou a direção de uma grande propriedade. Encurralados entre as duas fileiras de arame farpado, não tinham espaço de manobra e era-lhes impossível protegerem-se do ataque. O melhor seria alcançarem campo aberto.
Gray concordou.
— Vamos!
As três motas atravessaram a propriedade. Percorreram um largo caminho de cascalho. De um lado havia estábulos para ordenhar vacas e, do outro, dormitórios e oficinas. Currais e pastagens estendiam-se daí em diante. Parecia um empreendimento importante.
Luzes acenderam-se e apareceram rostos em diversas janelas, talvez atraídos pelo barulho, mas ao verem o que se estava a passar, desapareceram rapidamente, baixando as persianas.
Gray viu no espelho retrovisor as luzes do helicóptero a aproximarem-se.
Dentro de poucos segundos estaria em cima deles.
— Venham por aqui! — gritou, guinando a mota para a esquerda. Avançou para um dos estábulos. Precisavam de se proteger. Dando realce a tal necessidade, uma metralhadora disparou uma rajada contra eles. O piloto devia ter percebido que a presa estava prestes a meter-se dentro de um buraco.
Seichan e Guan-yin ripostaram ao fogo do adversário. Mãe e filha enfrentavam o mesmo perigo sem estremecer, disparando afincadamente as espingardas de assalto.
A mota de Gray entrou pelo estábulo adentro a voar, seguida pelas outras duas.
O helicóptero tornou a subir, passando por cima do telhado do estábulo para o outro lado onde outras portas estavam abertas.
O estábulo era espaçoso e escuro. Dava a impressão de ser soviético, construído para produção em massa. À esquerda via-se uma longa fileira de máquinas automáticas para ordenhar. No outro lado, estendia-se uma série de redis com quatro ou cinco vacas cada. Mugiam a queixarem-se da intrusão e os seus grandes olhos brilhantes olhavam para eles.
Gray calculou que cem cabeças de gado estavam alojadas no interior, mas, para lá das portas do fundo, viam-se currais à cunha com mais vacas. Era provável que o cheiro os matasse primeiro do que as balas.
Apagou os faróis e parou a meio do comprimento do estábulo: os outros imitaram-no. O helicóptero andava às voltas por cima deles com o rotor a girar ameaçadoramente. Tinha-os encurralado e agora só restava aguardar para ver por que lado eles tentariam fugir.
Gray sabia que não podiam permanecer aqui, e mais cedo ou mais tarde lá teriam de fazer essa tentativa. Forças terrestres já deviam vir a caminho.
Mas essa era a menor das suas preocupações.
Consultou o relógio. Era quase meia-noite. Se não chegassem à costa nos próximos dez minutos, nada disto teria importância.
— Qual é a manobra? — perguntou Kowalski.
Gay explicou-lhe.
Kowalski empalideceu.
23h41
Não é que tenhamos muita escolha, pensou Gray depois de preparar toda a gente.
Examinou, de binóculos, o que havia para lá dos campos vazios da propriedade. Avistou uma linha de árvores a uns quatrocentos metros. Se conseguissem alcançá-la, a floresta dar-lhes-ia suficiente proteção para chegarem à praia.
Mas para isso teriam de abandonar a segurança do estábulo.
— Vamos lá fazer isto — ordenou Gray.
E ele e os outros abriram seguidamente os redis, obrigando as vacas a sair com palmadas na garupa. Não demoraram muito tempo, pois estavam habituadas a obedecer.
O corredor central do estábulo ficou à cunha e Gray fez então sinal aos companheiros para montarem nas motas. Postaram-se a meio e puseram ruidosamente o motor a trabalhar, o que fez as vacas afastarem-se em ambas as direções. Para que elas avançassem mais depressa, Seichan levantou a espingarda e disparou uma rajada de balas no teto de metal.
O barulho ensurdecedor pô-las a andar dali para fora num ápice e, mugindo queixosamente, as vacas fugiram em pânico por ambas as saídas.
Gray seguiu-as pelos portões das traseiras enquanto os outros executavam a mesma manobra em direção oposta. Avançaram, de faróis apagados, metidos no meio das vacas em debandada.
Apanhado desprevenido, o helicóptero zumbiu de um lado para o outro sem perceber o que estava a acontecer.
Perdidas no meio da confusão, as três motas tentaram escapar a coberto da noite quando o helicóptero se encontrava na outra extremidade do estábulo.
Mas rapidamente voltou com os holofotes apontados aos fugitivos.
Uma vez em campo aberto, Gray tomou uma direção e Zhuang outra. Sem trocarem uma palavra, mãe e filha saltaram das motas em movimento e abriram as portas dos currais dispostos em ambos os lados.
O pânico da debandada do estábulo já se espalhara por entre os animais que aqui se encontravam como a chama de um fósforo em erva seca. Moviam-se nervosamente e batiam com os cascos no chão.
E, quando os portões se abriram, saíram de roldão na esteira dos outros animais.
Em segundos, a modesta debandada tornou-se uma torrente, levando tudo à sua frente.
Kowalski encostou-se a um dos lados com a espingarda apontada enquanto as duas mulheres corriam para as respetivas motas.
O ruído surdo do helicóptero transformou-se num rugido. As pás do rotor a girar assustavam ainda mais os animais — para não falar do clarão dos holofotes.
Kowalski disparou de onde se encontrava.
Ouviu-se vidro a estilhaçar e a escuridão voltou.
O helicóptero, apanhado de surpresa, afastou-se.
As três motas, de luzes apagadas, avançaram no meio da manada pelos campos, longe do estábulo e aproximando-se do arvoredo.
Gray fazia o possível para não chocar com nenhuma das corpulentas companheiras, mas tamanha cortesia não era correspondida. Foi várias vezes abalroado ou chicoteado por uma cauda, mas conseguiu mantê-las em movimento.
Atrás deles, o helicóptero continuava às voltas perto do estábulo sem saber onde eles se tinham metido. Acabou por sobrevoar hesitante e lentamente os campos, mas por esta altura o gado tinha-se espalhado e corria em todas as direções.
O helicóptero, contudo, não queria admitir a derrota e disparava rajadas de metralhadora à toa sobre o gado.
O coração de Gray apiedou-se das pobres criaturas, mas considerando a forma cruel como eram tratadas e as pobres condições dos estábulos onde as guardavam, talvez isto fosse um gesto caridoso. Pelo menos, os animais tinham gozado um momento de liberdade.
Abrandaram ao chegar à floresta e Kowalski olhou para aquele massacre.
— Grandes sacanas — resmungou.
Tinha sido uma fuga com um preço elevado, mas Gray fazia tenção de não a desperdiçar.
Continuaram a coberto da floresta costeira até alcançarem uma estrada.
Depois de Gray consultar o GPS, retomaram o rumo a uma velocidade vertiginosa. Saíram pouco depois do meio das árvores e chegaram a uma larga praia rochosa.
Gray percorreu as margens curvas da enseada enquanto as ondas chapinhavam as suas pedras planas. A luz fria das estrelas banhava-os.
Parecia deserta.
— É este o lugar? — perguntou Kowalski.
Gray assentiu, mas receava que tivessem chegado tarde de mais. Tirou um foguete luminoso da sacola da mota, acendeu-o e lançou-o para o ar.
Luz verde ganhou vida, refletindo-se na água.
Esperava que alguém a visse.
O que aconteceu.
O helicóptero norte-coreano emergiu ruidosamente da floresta e avançou em direção deles guiado pela luz do foguete.
A metralhadora crepitou.
Nesse momento, um clarão de fogo saiu da escuridão, acompanhado por um silvo furioso. Um míssil acertou num dos lados do helicóptero e explodiu, destruindo o aparelho.
Baixando-se, Gray viu uma chuva de destroços em chamas caírem na floresta enquanto a maior parte do helicóptero tombava, carbonizada, pesadamente no mar.
Antes mesmo de o eco da explosão se extinguir, um pequeno avião atravessou o manto de fumo e planou sobre a praia. Era um novo modelo de aeronave furtiva, uma versão em miniatura de um Blackhawk com ângulos pronunciados e superfícies planas para não ser detetado por radar.
Mas aquela explosão não passaria despercebida durante muito tempo.
Com o lança-mísseis ainda a fumegar, o aparelho aterrou na praia e as portas abriram-se para os acolher.
Há já algum tempo que Gray tinha combinado esta evasão com Kat.
Conforme planeado, o aparelho descolara de um navio norte-americano estacionado em águas territoriais da Coreia do Sul e depois voara a baixa altitude até àquela praia. Kat avisara-o que a operação tinha de ser perfeitamente sincronizada e que só haveria uma tentativa, pois os norte-coreanos não se deixariam enganar duas vezes.
Depois de entrarem, um membro da tripulação fechou a porta e o helicóptero partiu imediatamente, afastando-se a toda a velocidade da península coreana, as pás do rotor sussurrando na noite.
Enquanto afivelava o cinto de segurança Gray lançou um olhar à praia, pensando no risco que tinham corrido e na efusão de sangue. Ao recostar-se, viu Guan-yin aproximar-se de Seichan.
Pela primeira vez em décadas, a mãe acariciou o rosto da filha.
Gray virou-se e olhou em frente.
Tinha valido a pena.
15
18 DE NOVEMBRO, 21H41, QYZT
MAR DE ARAL, CAZAQUISTÃO
Quando o Eurocopter se elevou num turbilhão de areia e sal, Rachel inquietou-se por causa do tio que conversava animadamente com Josip.
Sentados ao lado um do outro com as cabeças juntas, pareciam dois miúdos a caminho de uma excursão colegial. Mas já nenhum deles era um miúdo.
Sobretudo Vigor.
Apesar de se dar ares, a idade começava a transparecer por entre o verniz. E
pouco antes ela vira-o precisar de ajuda para subir para o helicóptero, quando há uns anos teria saltado lá para dentro. Reparara nisso milhares de vezes antes desta viagem e tinha até feito um comentário, mas ele não fizera caso, culpando o tempo que passava agora sentado à secretária em vez de trabalhar no terreno.
Sugeriu então ao tio que aligeirasse o seu horário e aceitasse menos responsabilidades no Vaticano, mas foi como pedir a um comboio de mercadorias para abrandar a marcha.
As preocupações de Rachel quanto ao tio tinham aumentado. Antes desta viagem, não o via tantas vezes quanto gostaria. Somente em jantares da família e outras raras ocasiões. Mas agora que tinha passado as últimas vinte e quatro horas com ele, temia que não se tratasse apenas da idade. No gabinete da universidade, tinha reparado nas olheiras dele. Agora, via a sua respiração mais pesada e como às vezes levava a mão ao lado esquerdo do peito. No entanto, sempre que ele a via a olhar, fingia que não era nada.
Andava a esconder-lhe qualquer coisa.
E isso aterrorizava-a, ainda mais do que o fim do mundo.
Depois de o pai morrer num acidente de autocarro, Vigor tinha-o substituído e cuidado dela. Pegara-lhe na mão e não mais a largara, visitando museus em Roma, levando-a a passear em Florença e a nadar em Capri.
Ensinou-lhe a prosseguir as suas paixões e, como mulher, a nunca se contentar com menos. Instilou-lhe igualmente o amor pela arte, onde as emoções mais sublimes da humanidade eram exprimidas por via do mármore e do granito, da tinta a óleo e da tela, do vidro e do bronze.
Assim, como podia ela não desejar protegê-lo? Em Roma, o medo levara-a a querer defendê-lo do mal, até mesmo contra a sua vontade. Mas ao olhar para ele neste momento, sorridente e entusiasmado, sabia que se tinha enganado.
Desconhecia quantos anos passaria com ele, mas reconhecia que chegara a altura de ser ela a pegar-lhe na mão e dar-lhe força quando ele necessitasse.
O tio dera-lhe o mundo — e ela nunca lho tiraria.
Desviou a sua atenção para a paisagem que se avistava do helicóptero. O
aparelho afastou-se do navio enferrujado e virou para norte, tomando o rumo de uma região ainda mais árida e desolada. O luar transformava as salinas numa infinita extensão prateada com rochedos, carcaças deterioradas de outros navios e uma ou outra colina calcária.
Imaginou o mar a voltar a encher a bacia lá em baixo até as colinas se tornarem novamente ilhas. Dirigiam-se para um local a uns quarenta quilómetros a nordeste, um atol neste oceano de sal seco e pó — tudo isto baseando-se num mapa desenhado na língua de um guerreiro morto.
Não podia deixar de sentir parte da excitação do tio. Que poderiam encontrar? Os outros pareciam igualmente entusiasmados, incluindo a relutante Jada Shaw. Ela partilhava uma janela com Duncan, novo operacional da Sigma.
Eram ambos jovens e a sua impaciência iluminava-lhes a pele.
Monk surpreendeu-a a olhar para eles e sorriu, como se dissesse: Lembras-te quando tínhamos a mesma idade? Ele agora tinha duas filhas e uma mulher que o amava. Exibia as cicatrizes com orgulho e até mesmo a mão protética era uma marca honrosa.
Tornou a afundar-se no assento, satisfeita com a companhia à sua volta, até mesmo a do jovem Sanjar, que tinha o falcão pousado no pulso. A plumagem desta ave era de um branco prateado com listas pretas e cinzento-escuras.
Ele reparou na curiosidade dela e dirigiu-lhe um sinal com a cabeça.
— Que género de ave é? — perguntou Jada.
Sanjar empertigou-se, contente com o seu interesse.
— É um gerifalte. Falco rusticolus. O maior falcão que existe.
— É lindo!
Sanjar sorriu, mostrando dentes muito brancos.
— É melhor que ele não a ouça. Já é bastante vaidoso.
— É tão quieto.
Ele passou um dedo pelo capuz enfiado na cabeça do falcão.
— Sem ver, uma ave não se mexe. Um falcão encapuzado confia no seu tratador e permanece imóvel. Os nobres costumavam antigamente levá-los para a corte, para banquetes, e andavam com eles a cavalo.
— E agora até de helicóptero...
— Temos todos de nos adaptar ao mundo moderno. A falcoaria data do tempo de Gengis Khan e os mongóis caçavam raposas e por vezes lobos, com falcões.
— Lobos? A sério...? Um animal tão grande!
Ele assentiu. — E não apenas lobos... Seres humanos, também. A guarda pessoal de Gengis Khan era constituída por falcoeiros.
— Quer dizer que continuas a seguir uma nobre tradição, Sanjar. Ainda hoje, serves Gengis Khan.
— Sim, o meu primo e eu... — Indicou com um gesto de cabeça Arslan. — Temos muito orgulho no nosso notável antepassado.
— Estamos a um minuto do local — interrompeu o piloto. — Querem que aterre ou que voe em círculos para terem uma vista aérea?
Vigor inclinou-se para a frente e respondeu.
— Uma vista aérea, por favor. Pode ser-nos útil.
Olharam todos pelas janelas enquanto o helicóptero sobrevoava o deserto de Aralkum. O pântano de sal brilhava ainda mais nesta área. Em frente, uma lúgubre colina elevava-se da crosta seca. As suas encostas eram íngremes e escavadas pelo vento; o cume era ligeiramente côncavo, o que fazia lembrar um barco na crista de uma vaga rochosa.
O helicóptero passou duas vezes por cima da colina, mas nada de interesse lhes chamou a atenção.
— Temos de aterrar para continuarmos a nossa investigação — decidiu Josip.
Monk gritou ao piloto.
— Leve-nos para terra! O mais próximo que puder da colina!
O piloto manobrou o aparelho e aterrou a dez metros do lado da encosta protegida pelo vento, mas foi difícil.
— Está muito vento lá fora — preveniu o piloto. — A superfície frontal deve estar a aproximar-se.
Quando as portas se abriram, a sua previsão confirmou-se. A temperatura tinha baixado vários graus e Rachel, embora protegida pela colina, sentiu um vento gelado atravessar-lhe o blusão.
Desembarcaram todos.
O sal estalava por baixo dos pés. Uma paisagem estranha estendia-se à volta deles. Era como se alguém tivesse espalhado uma espessa camada de batatas fritas. Debruçando-se, ela percebeu que eram cristais de sal e que cada um tinha a largura de um dedo e era afiado na ponta, o que dava àquele sítio uma espinhosa aparência sobrenatural.
Josip, ao lado dela, ignorou as características geológicas e examinou a colina.
As encostas eram íngremes e algumas partes tinham desmoronado.
— Primeiro que tudo, deveríamos contorná-la a pé — declarou ele enquanto eram distribuídas lanternas.
Vigor concordou — embora parecesse cansado.
Rachel sugeriu que ele se apoiasse ao seu ombro.
— Vá lá, velhote... Quem me arrastou até aqui foste tu.
Ele aceitou a proposta com bom humor e atravessaram juntos o campo de cristais de sal. Vigor apoiou-se nela durante os primeiros dez minutos, mas depois acabou por sentir forças suficientes para prosseguir sozinho. Ela queria inquirir sobre a sua saúde, mas, não desejando pressioná-lo, deu-lhe tempo.
Reparando provavelmente no estado do monsenhor, Monk aproximou-se com a testa enrugada pela preocupação, mas, devido à sua habitual capacidade de pressentir o estado de espírito dos outros, manteve-se calado.
Olhou para os cristais afiados à volta.
— Há séculos que ninguém passa por aqui.
Rachel percebeu que ele tinha razão.
— Não se veem quaisquer pegadas.
Os cristais pareciam frágeis e tinham levado certamente muitos anos para se formarem. Se alguém tivesse andado por aqui haveria marcas no gelo esmagado.
Contornaram a encosta abrigada e tiveram de enfrentar o vento que soprava com força, levantando areia e deixando um sabor amargo na boca.
Sanjar tinha dificuldade em dominar o falcão empoleirado na sua mão enluvada. Acabou por lhe tirar o capuz e lançá-lo ao vento, deixando-o esticar as asas e acalmar-se. A ave soltou pios estridentes e as suas asas prateadas cintilaram à luz do luar.
Arslan apontou para o horizonte. A linha entre as salinas e o céu estrelado mal se distinguia.
— Vem aí um temporal — preveniu.
— Uma tempestade de neve — especificou Sanjar.
Protegendo os olhos contra o vento, Rachel olhou para a muralha de areia, sal e pó, lembrando-se do que o tio dissera acerca dessas nuvens tóxicas.
— Não querem certamente estar aqui quando chegar — avisou Arslan.
Partiram logo a passo acelerado sem o contrariar.
Foram obrigados a tapar metade do rosto com um lenço passados apenas uns metros. Tal precaução era comum aqui, pois os ventos varriam regularmente este antigo leito de rio. Qualquer parte do corpo exposto às frias dentadas do vento ou às dolorosas picadas da areia ficava esfolada ou em carne viva.
O vento obrigou-os a manterem-se perto da colina, avançando em fila indiana e de lanterna em punho. Atravessaram uma passagem estreita entre a encosta e uns penhascos aguçados, talvez o que restava de um antigo recife.
Qualquer abrigo do vento era bem-vindo.
De repente, ouviram um grito.
Rachel avançou apressadamente com os outros e todos se agruparam à volta de Josip. Este iluminava com a lanterna uma larga fenda na encosta, mas Rachel não percebia o que tinha assustado o padre.
— Não parece a cabeça de um cavalo? — perguntou, delineando a abertura com o feixe de luz. — As narinas, as orelhas arrebitadas e o pescoço estendido....
Recuando, ela viu que ele tinha razão. Parecia a silhueta de um cavalo a afogar-se na areia revolta, tentando levantar a cabeça para respirar.
— Equus — murmurou Vigor. — O que estava escrito na tatuagem.
Josip assentiu com os olhos a brilhar de febre.
Monk agachou-se à entrada e iluminou o interior.
— Há espaço suficiente para entrar.
— É algum túnel? — perguntou Josip.
Duncan examinou a parte superior da encosta.
— Talvez tivesse sido um túnel que passava por baixo de água quando o lago estava cheio — explicou.
Josip fitou Vigor.
— Exatamente como no rio Tisza na Hungria. Só descobriram uma entrada secreta para o rio durante a seca.
— Então, do que estamos à espera? — perguntou Monk, entrando.
Foi à frente para o caso de haver perigo e os outros seguiram-no.
Vigor lançou um olhar à sobrinha, sorrindo de orelha a orelha e mal conseguindo conter o seu entusiasmo.
Era para isto que ele vivia.
E ela pediu a Deus que o protegesse.
22h37
O monsenhor seguiu de gatas atrás de Josip.
O túnel era mais alto do que ele esperava. A mão protética de Monk era uma grande ajuda para desbloquear a passagem: rochas caídas, areia acumulada, crostas de sal... Monk era uma autêntica broca viva.
— Parece que se torna mais espaçoso uns metros mais à frente! — preveniu Monk aos gritos.
Um minuto depois, viram que assim era.
A luz da lanterna de Monk desapareceu, deixando um clarão atrás. E então Josip avançou, saindo do túnel. Mas, uma vez de pé, tropeçou, caindo para o lado em estado de choque.
Com o coração a bater desenfreadamente, Vigor saiu do túnel e foi ter a uma gruta.
Estupefacto, juntou-se aos outros dois companheiros e, a exemplo deles, ergueu também a sua lanterna.
Uma enorme gruta revestida inteiramente de sal estendia-se diante deles. Do teto branco em forma de cúpula pendiam cintilantes estalactites de sal cristalino.
Estalagmites elevavam-se como presas opalescentes. Colunas de sal ligavam por todo o lado o chão ao teto. Cristais brancos prateados cobriam todas as superfícies.
Os outros chegaram, exprimindo vários níveis de espanto ao entrarem Duncan foi o último.
— Valha-me a Sagrada... — murmurou.
Josip interrompeu-o, ofegante.
— Esta gruta deve também ter estado submersa e, quando as águas se retiraram, escoando lentamente, deixaram apenas o sal do mar.
— E esperemos que algo mais — acrescentou Vigor, apontando para o outro lado da gruta. — Temos de encontrar mais relíquias de Gengis Khan.
O grupo espalhou-se, esquadrinhando o chão. Era uma tarefa árdua pois por cima da rocha havia camadas dos mesmos cristais da grossura de dedos que eles tinham visto no exterior. Só que alguns aqui eram tão grossos como a coxa de um homem e estavam ebriamente encostados uns aos outros como uma floresta de sal.
O ruído dos cristais espezinhados ecoava nas paredes enquanto eles trabalhavam. O ar cheirava a mar e queimava os olhos.
Jada dirigiu-se em voz baixa a Duncan, mas a sua voz foi ouvida por todos por causa da acústica da gruta.
— Os níveis de água devem ter subido e caído aqui ao longo de séculos para criar uma tal acumulação.
— E, todos os anos, a chuva ajudou — acrescentou ele. — Filtrando mais sal do solo por cima.
Jada fitou o teto.
— Creio que no tempo de Gengis Khan esta gruta não estava completamente inundada, mas só nadando por baixo de água se podia aceder a ela.
Provavelmente, tinham razão.
Subitamente cansado e reconhecendo que, se calhar, a arqueologia era um desporto para jovens, Vigor encostou-se a uma coluna da largura de um poste telegráfico, julgando que fosse suficientemente sólida para aguentar o seu peso.
Mas a verdade é que era deveras frágil e se partiu em dois.
Por sorte, Monk e Rachel encontravam-se ali por perto. Puxaram-no a tempo e protegeram-no de uma chuvada de cristais afiados e pedaços de sal.
— Cuidado, tio — preveniu-o Rachel, ajudando-o a equilibrar-se e sacudindo poeira brilhante dos ombros.
— Olhem para isto — disse Monk, apontando para a base da coluna partida.
O monsenhor virou-se com a lanterna mão. Algo ali enterrado refletia a luz da lanterna de modo ainda mais brilhante.
— Venham cá! — chamou ele.
Os outros agruparam-se à volta enquanto Josip se baixava com um joelho em terra.
— Parece ser um pedestal de pedra com uma caixa.
— Como aquela no túmulo de Átila descrita pelo bispo húngaro! — exclamou Vigor, fitando-o com expressão admirada. — Deve ser esta!
Josip levantou-se.
— Temos de a soltar do sal.
Arslan apareceu com uma pequena mochila cheia de ferramentas. Usando martelos, cinzéis e escovas, ele e Josip trabalharam juntos para desbastar a espessa base da coluna.
Viu-se, aos poucos, que a caixa era grande e tinha uns trinta centímetros de altura e o dobro de comprimento.
Josip sacudiu os cristais que cobriam a sua superfície escura. O cinzel tinha-a entalhado em alguns sítios e Josip esgravatou com a unha.
— Por baixo, parece ser de prata.
Vigor olhou mais de perto quando Arslan conseguiu soltar a parte inferior.
— Penso que tens razão. E tem dobradiças atrás.
A caixa foi finalmente solta da crosta de sal com uma boa martelada.
Uma vez terminado o seu trabalho, Arslan recuou.
— Abre-a — disse Vigor a Josip. — Bem o mereces.
Sem conseguir falar por causa da emoção, o amigo fincou os dedos trémulos no braço do monsenhor para lhe agradecer.
E, agarrando a tampa com as duas mãos, levantou-a um pouco. As dobradiças rangeram e a tampa acabou por cair.
Rachel deu um passo para trás, tapando a boca.
— Meu Deus...
23h02
Quando a sobrinha de monsenhor recuou, Duncan teve a oportunidade de ver o que a caixa continha.
Um barco talhado em miniatura com uma proeminente quilha e um gurupés na proa, os lados feitos de pranchas habilidosamente curvadas. Um par de mastros suportava velas quadradas, ambas um pouco estriadas, como persianas fechadas.
— Lembra um junco da dinastia Song — declarou Vigor. — Na Idade Média, este género de embarcações navegava pelos mares e rios da China.
Rachel abanou a cabeça.
— Mas este aqui foi construído com ossos das costelas e vértebras. E as velas são pele humana.
Duncan aproximou-se e viu que assim era. As pranchas curvas do barco eram costelas e o gurupés, uma vértebra. E não duvidava que as velas fossem pele humana.
— Mais Gengis Khan — comentou Monk.
— Como podemos ter a certeza? — perguntou Rachel.
— Posso enviar uma amostra para o mesmo laboratório em Roma — propôs Vigor. — Obteríamos resposta dentro de um ou dois dias.
— Ou então podemos fazer isso agora mesmo — declarou Jada, dando uma cotovelada cúmplice a Duncan.
Todos olharam para eles.
Duncan compreendeu.
— Ela tem razão. — Levantou as mãos e remexeu os dedos. — Se este tecido provém do mesmo corpo, hei de descobrir.
Os outros afastaram-se para lhe dar espaço e ele estendeu as pontas dos dedos para os lados curvos do barco. Registou imediatamente o mesmo campo de energia existente nas outras relíquias. Jurava até que podia agora sentir a cor desse campo — um termo que gente como ele costumava empregar para descrever as ínfimas variações dos campos elétricos que desafiavam uma descrição adequada.
Era como tentar descrever a cor azul a um cego.
Só que, neste caso, se ele tivesse de escolher uma cor para este campo, seria preto.
Afastou-se e, a tremer, abanou as mãos para se livrar do formigueiro que sentia nas pontas dos dedos.
— É sem dúvida o mesmo — concluiu.
Antes de alguém poder fazer qualquer comentário, um guincho estridente sobressaltou-os. E o falcão de Sanjar atravessou o túnel e voou para o alto da gruta. Sanjar levantou o braço e a ave, mergulhando a pique, aterrou a esvoaçar e ofegante.
— A tempestade já deve ter chegado aqui — disse Sanjar, sacudindo poeira das penas do falcão. — Devíamos ir andando.
Ouviu-se outro guincho, mas desta vez era do rádio do grupo. Monk falou com o piloto.
— Ele diz que temos de partir — informou Monk, virando-se depois para Duncan. — Fecha essa caixa e vamos embora.
Com a ajuda de Josip e Vigor, Duncan amarrou a caixa e levantou-a. Era bastante pesada. Se fosse realmente de prata, valeria uma pequena fortuna.
Monk ajudou a carregá-la pelo túnel fora. Uma vez no exterior, Duncan percebeu o motivo pelo qual o falcão sentira o desejo súbito de ir ter com o dono. A noite estrelada de há pouco tinha desaparecido. Nuvens negras rolavam no céu e a areia fustigava a colina. A oeste, as condições pareciam ainda piores.
O grupo atravessou as terras planas à pressa, regressando pelo mesmo caminho de sal que fizera antes. Todos eles avançaram de lado, com as costas viradas contra o vento. A visibilidade era nula. De mão dada com Jada, Duncan carregava a caixa debaixo do braço. À sua frente, Monk e Rachel ajudavam o monsenhor enquanto Josip se apoiava em Sanjar e Arslan.
Contornaram por fim a colina, ficando a salvo da tempestade. O piloto avistou-os e, abrindo a porta lateral do helicóptero, fez-lhes sinal para se despacharem.
Nenhum deles necessitava, contudo, de ser encorajado.
Correram juntos para o aparelho e refugiaram-se no interior. E antes mesmo de terem tempo para afivelar os cintos de segurança, o piloto levantou voo.
O helicóptero deu uma reviravolta e voou a baixa altitude por cima das salinas, abrigando-se por trás da colina o máximo de tempo possível e fugindo para longe da tempestade.
Todos se sentaram e por fim o helicóptero subiu no ar, impulsionado pela potência do motor. Os solavancos e a vibração faziam ranger os dentes e desafiavam a resistência dos cintos de segurança.
Durante alguns segundos ninguém proferiu palavra nem quase respirou.
Mas depois o aparelho estabilizou e prosseguiu viagem.
— Daqui em diante vai ser fácil — assegurou o piloto com a voz um pouco trémula, o que deixava entender que tinham escapado por pouco, menos do que Duncan gostaria de pensar.
Avançaram velozmente pela noite com as estrelas a brilhar de novo no céu.
Duncan soltou por fim um longo suspiro de alívio.
— Foi divertido.
Jada olhou para ele, aterrorizada.
23h33
Enquanto voavam de volta à base de operações, Vigor examinou a caixa de prata pousada ao lado de Duncan, o qual mantinha as palmas das mãos sobre a tampa enegrecida.
O monsenhor refletia sobre o seu conteúdo, mas não era o único a interrogar-se.
— Tem de haver uma indicação no interior que nos diga onde ir a seguir — disse Josip.
O olho pregado na capa do livro e os segredos que escondia vieram à cabeça de Vigor.
— Tens provavelmente razão. Veremos o que conseguimos descobrir ao chegar à tua biblioteca.
Josip reparou na falta de entusiasmo na voz do amigo.
— Que se passa?
Vigor fez um gesto desdenhoso.
— Sinto-me apenas cansado — mentiu.
— Pergunto a mim mesmo quantos mais esconderijos com relíquias de Gengis Khan existirão — disse Josip. — Em quantas partes foi o grande imperador dividido?
Vigor remexeu-se no assento, surpreendido pela obtusidade do colega.
— Há só mais um lugar.
Josip franziu a testa.
— Como sabes...?
Mas, a seguir, entendeu. Deu uma palmada no joelho do monsenhor.
— Fisicamente, podes sentir-te cansado, mas a tua mente continua a funcionar muito bem.
Ao ouvir aquela troca de palavras, Monk, sentado do outro lado, interveio.
— Que tal explicarem àqueles que estão cansados tanto física como mentalmente?
Vigor sorriu-lhe com afeto.
— A caixa que encontrámos é de prata — disse, indicando com a cabeça a caixa ao lado de Duncan. — Mas, segundo o relato do bispo húngaro, a caixa no túmulo de Átila era de ferro.
Empolgado, Josip endireitou-se no assento.
— O que significa que a última caixa, aquela que contém a parte mais importante, será de ouro.
Monk percebeu.
— Como as três caixas originais do relicário de São Tomé... Ferro, prata e ouro.
Vigor assentiu.
— Estamos a um passo de encontrar o túmulo perdido de Gengis Khan.
Duncan deu uma palmada na caixa.
— Quer dizer... se conseguirem resolver o enigma deste barco feito de osso.
Vigor suspirou, pedindo a Deus que o mantivesse suficientemente forte para enfrentar este desafio.
Pelo menos um pouco mais...
O piloto transmitiu-lhes boas notícias.
— Estamos de volta ao ponto onde começámos. Mas talvez tenhamos de nos preparar para uma noite agitada. O tempo que vem aí não augura nada de bom nem para os homens nem para os animais.
Vigor olhou na direção do horizonte. A tempestade de neve não tinha desistido da perseguição e lançava-se furiosamente contra eles.
Ao corrente do que se aproximava, o helicóptero baixou rapidamente em direção do navio abandonado à procura de abrigo. A gigantesca embarcação tinha claramente resistido a muitas tempestades e voltaria a resistir.
Aliviado, Vigor recostou-se.
Logo que estivermos debaixo de terra, ficaremos em segurança.
16
19 DE NOVEMBRO, 02H44, KST
AO LARGO DA COSTA SUL-COREANA
Seichan estava encostada à amurada do USS Benfold, contratorpedeiro de mísseis guiados dos EUA. Vestia uma parca emprestada com o capuz puxado para trás. Já não aguentava o interior claustrofóbico do navio, os seus corredores estreitos, o espaço reduzido e os quartos sem janelas, tudo pintado com as mesmas cores baças.
Precisava de ar.
A noite era glacial e as estrelas duras como diamantes; até o cometa lembrava um bocado de gelo a arrastar-se pelo céu fora.
O navio navegava rumo ao Sul pelas águas territoriais da Coreia do Sul. Até agora não fora dado alarme em Pyongyang. Era provável que os governantes estivessem demasiado embaraçados para admitir o revês. No entanto, tinham escapado à tangente. E Gray encontrava-se ainda a ser devidamente tratado.
Seichan viu-se de novo a disparar a pistola, agindo por instinto, alheia a tudo menos à sobrevivência. Tinha apenas querido derrubar o motociclista da mota...
Quase o matei.
Uma escotilha do convés abriu-se atrás dela. Fechou os olhos, não estava com disposição para aturar intrusos. Ouviu passos a aproximarem-se e um vulto debruçou-se na amurada ao lado dela. Sentiu o cheiro a jasmim. O perfume ameaçou enfiá-la mais fundo no passado se ela deixasse. A imagem de uma planta trepadeira com flores roxas e abelhas à luz do sol veio-lhe à memória.
Suprimiu-a.
— Chi! — exclamou a mãe, chamando-a pelo seu antigo nome, uma nota só de lábios demasiado pesados para uma exalação tão breve.
— Prefiro Seichan — disse ela, abrindo os olhos. — Tenho usado esse nome há mais tempo do que o outro.
Mãos pequenas agarraram-se à amurada, sem tocar as dela, mas suficientemente perto para Seichan sentir o seu calor nesta noite fria. A distância entre elas, porém, continuava a ser um enorme abismo.
Seichan tinha imaginado este encontro milhares de vezes, mas nunca as imaginou tão profundamente estranhas uma à outra. Observara as feições da mãe durante a viagem e reconhecia aquelas que eram dolorosamente familiares: uma sobrancelha arqueada, a curva do lábio inferior, a forma dos olhos. Mas era simultaneamente o rosto de uma desconhecida. Não por causa da cicatriz ou da tatuagem, mas havia algo mais profundo.
Era uma criança de nove anos quando vira a mãe pela última vez. E agora olhava para uma mulher vinte anos mais velha. Seichan já não era essa criança e a mãe deixara de ser aquela jovem.
— Tenho de partir muito em breve — disse-lhe a mãe.
Seichan respirou fundo para testar como essas palavras a faziam sentir. As lágrimas vieram-lhe aos olhos — mas apenas porque nada sentiu.
— Tenho obrigações — justificou-se Guan-yin. — Homens e mulheres que correm perigo e necessitam da minha ajuda. Não posso abandoná-los.
Seichan reprimiu uma gargalhada amarga perante a ironia dessas palavras.
A mãe também devia tê-lo percebido.
— Procurei por ti — disse docemente após uma longa pausa.
— Eu sei. — Tinha ouvido a mesma coisa da boca de Gray.
— Disseram-me que estavas morta, mas eu continuei à tua procura até me doer tanto que tive de desistir.
Seichan fitou as suas próprias mãos, surpreendida por os nós dos dedos estarem tão brancos.
— Vem comigo — pediu-lhe a mãe.
Seichan permaneceu em silêncio demasiado tempo.
— Não podes, pois não? — murmurou Guan-yin.
— Também tenho obrigações.
Seguiu-se outro longo silêncio, com muito mais significado do que as palavras de ambas.
— Ouvi dizer que ele vai partir novamente. Vais partir com ele?
Seichan não se deu ao trabalho de responder.
Permaneceram ao lado uma da outra durante muito tempo. Tinham ambas tanto para dizer e tão pouco para falar. Que mais podiam fazer? Comparar cicatrizes, contar as experiências de horror e sangue que tinham vivido a fim de sobreviver? Era preferível nada dizerem.
Por fim, Seichan ouviu a mãe dizer num sussurro.
— Perdi-te para sempre, minha pequenina Chi? Voltei realmente a encontrar-te outra vez?
E depois desapareceu, deixando somente um perfume a jasmim atrás de si.
3h14
Demasiado cansado para confiar nas pernas, Gray encostou-se à mesa de conferências. Ele e Kowalski tinham a sala reservada aos oficiais só para eles, por cortesia do capitão do navio, e a tripulação fizera café e ovos com toucinho.
Não era todos os dias que operacionais norte-americanos conseguiam escapar da Coreia do Norte.
Com o ombro ferido tratado e ligado, sentia-se muito melhor. E o café também ajudava.
Kowalski sentou-se numa cadeira com os pés em cima da mesa e um prato de toucinho sobre a barriga. Bocejou, estalando os maxilares.
O grande LCD diante de Gray finalmente ganhou vida. As imagens eram transmitidas por canais de alta segurança para esta sala privada. Deu por si a olhar para o centro de comunicações do comando da Sigma em Washington.
O diretor estava diante dele, com Kat sentada ao seu lado a escrever furiosamente num computador. Tinha sido ela quem organizara esta videoconferência.
Painter dirigiu-lhe um cumprimento com a cabeça.
— Como se tem aguentado, comandante Pierce?
— Já tive dias melhores.
E piores.
Apesar de tudo o que sucedera, tinham conseguido salvar Seichan e sair de lá intactos — bem, não totalmente intactos, mas o suficiente.
— Sei que regressou do inferno — disse Painter. — Mas precisamos urgentemente de si para outra missão.
— Na Mongólia — disse Gray.
Já tinha falado com Kat e fora posto ao corrente acerca da colisão do satélite.
— Preciso de uma resposta franca — disse Painter. — Você e Kowalski estão suficientemente preparados para continuar?
Gray lançou um olhar a Kowalski, que, trincando outro pedaço de toucinho, se limitou a encolher os ombros.
— Julgo que «suficientemente preparados» nos descreve bastante bem — respondeu Gray. — Um pouco mais de descanso durante a viagem e ficaremos ainda melhor.
— Ótimo. Então quero mostrar-lhes isto. — Painter virou-se para Kat.
Ela apareceu no ecrã ainda a escrever no teclado com uma mão enquanto olhava para ele.
— Vou pô-lo em contacto com o tenente Josh Leblang, no posto de McMurdo.
— Na Antártida?
— Afirmativo. Está com uma equipa de reconhecimento a uns cem quilómetros da base, na plataforma de gelo de Ross. — Kat premiu mais umas teclas e falou para um microfone junto da sua cadeira. — Pode mostrar-nos novamente o que encontrou, tenente Leblang? Explique-nos o que viu.
Um balbuciar que soava vagamente afirmativo chegou aos ouvidos de Gray.
A seguir, o ecrã iluminou-se e apareceu o rosto de um jovem militar. Estava vestido com uma parca, mas sem capuz, a desfrutar do verão antártico. Tinha um gorro de lã por cima do cabelo castanho cortado curto e as faces vermelhas de frio ou, se calhar, de excitação.
A imagem tremia — alguém estava a filmá-lo com uma câmara manual. E
ele falava recuando por uma encosta acima.
— Há coisa de duas horas, vimos cinco gigantescas bolas de fogo a passar por cima de McMurdo. Julguei que fosse um ataque de míssil. Os estrondos...
um após outro... puseram a base inteira em alvoroço. A minha equipa foi enviada para investigar e encontrámos isto...
Chegou ao alto da encosta e afastou-se. O operador da câmara avançou, fazendo saltitar a imagem. Deteve-se finalmente e focou uma paisagem dantesca.
Enormes crateras a expelir fumo preto esburacavam o gelo azul. Gray imaginou os cinco meteoritos a furarem o gelo e a derreterem no mar trezentos metros mais abaixo. Avistou um grupo de homens, pequenas figuras que se moviam de um lado para o outro e que faziam certamente parte da equipa de Leblang. Davam uma boa perspetiva quanto ao enorme tamanho daqueles poços fumegantes.
Trovões ribombaram pelos altifalantes.
Mas Gray só localizou a fonte do ruído quando uma série de estrondos se seguiu. No ecrã, viu fendas que se abriam no campo de neve e explosões que fizeram estalar o gelo. Fraturas ziguezaguearam de uma cratera a outra, fragmentando a plataforma.
Leblang praguejou em voz alta fora da imagem. E depois reapareceu, descendo a encosta a correr na direção da equipa em perigo. O operador largou a câmara e seguiu-o. A câmara rolou na neve, mostrando uma vista confusa do caos.
As fendas no gelo alargaram-se, destruindo o terreno por baixo.
Gente fugia àquela destruição em todas as direções. Ouviam-se gritos ténues pelo microfone da câmara.
Gray viu dois marinheiros despenharem-se quando o gelo se abriu por baixo deles. Um continente inteiro de gelo separou-se lentamente da plataforma principal e outra fenda abriu-se, ziguezagueando em direção à câmara e acabando por explodir diante da lente. O ecrã apagou-se.
Kowalski, antigo oficial da marinha, estava de pé de punhos cerrados.
Sentia-se frustrado pois não havia nada que pudesse fazer.
Então, a imagem de Painter tornou a aparecer. Tinha uma expressão chocada e o rosto vermelho. Enviava ordens, inclinado ao lado de Kat.
— ... Enviar aviões para a estação de McMurdo logo que possível.
Gray aguardou em silêncio enquanto Painter e Kat davam o alarme.
Depois, Painter virou-se novamente para Gray.
— Compreende agora o que talvez tenhamos de enfrentar.
— Que quer dizer com isso?
— Pouco antes de o Leblang nos informar da Antártida, os técnicos e engenheiros do Space and Missiles Center em Los Angeles confirmaram a especulação inicial de que a destruição filmada digitalmente pelo satélite caído era de impacte secundário relativamente a uma hipotética série de quedas de meteoritos ao longo da Costa Leste.
Gray reviu as cenas de há pouco e imaginou o que aconteceria se esses meteoritos tivessem caído numa cidade.
— Os técnicos acham que o que chocou contra a Antártida foram meteoros superbólides cujo tamanho médio é de dezassete a vinte metros de diâmetro. A energia nuclear de cada um deles equivale a oito bombas atómicas.
Gray engoliu em seco.
Não admira que a plataforma de gelo fosse reduzida a bocados.
Painter prosseguiu: — Da análise pormenorizada da imagem do satélite... tomando em consideração os padrões de explosão, a profundidade das crateras e o grau de destruição... eles calculam que só meteoros três vezes maiores do que os que tombaram na Antártida causariam tantos estragos.
Ao pensar em todos os amigos e parentes que lá estavam, incluindo toda a gente do comando da Sigma, Gray sentiu-se gelar.
— E pode não ser só a Costa Leste — preveniu Painter. — Temos apenas uma fotografia. Não há forma de saber se a destruição é mais generalizada, ou até mesmo global.
— Ou se efetivamente vai acontecer — acrescentou Gray, ainda sem poder acreditar. Mas depois do que tinha acabado de testemunhar, estava, à cautela, disposto a enganar-se.
— É por isso que temos de recuperar o satélite — declarou Painter. — Neste momento, toda a gente está de olhos postos no céu... O Hubble, o satélite Swift da NASA, a Agência Espacial do Reino Unido. Estamos a seguir o número de rochas arrastadas na esteira desse cometa, algumas com duzentos metros de diâmetro. Até agora, e de acordo com todas as estimativas, não corremos o risco de caírem na Terra.
— E então as que acabaram de cair na Antártida?
— É esse o problema. Não podemos saber tudo. A NASA levou quinze anos a seguir menos de dez mil asteroides em órbita próxima da Terra, o que significa que a grande maioria passa despercebida. O meteoro de Chelyabinks, por exemplo, que explodiu sobre a Rússia o ano passado. Foi uma surpresa total. E
se não tivesse explodido na camada superior da atmosfera, perdendo muita da sua energia, teria chocado contra a Rússia com a força de vinte bombas atómicas... vinte Hiroximas!
— Não podemos, portanto, estar seguros de nada.
Painter olhou para Kat, como se tivesse relutância em dizer algo mais.
— Que é? — perguntou Gray.
Kat fez sinal com a cabeça a Painter e este soltou um profundo suspiro.
— Há uma última notícia inquietante proveniente do Space and Missiles Center. É demasiado cedo para tirar conclusões, mas um dos físicos que trabalhava com a doutora Jada Shaw tem estado a analisar os dados dela acerca das anomalias iniciais do cometa no que se refere à gravidade. As mesmas inconsistências que, segundo a opinião da doutora Shaw, provavam a presença de energia negra.
— E?
— Esse tal físico continua a observar essas anomalias à medida que o cometa se aproxima da Terra. E está convencido de que aumentaram.
— Que significa isso?
Painter lançou um olhar a Kat.
— Ainda estamos à espera de uma resposta a essa pergunta. Pode ser significativa... ou insignificante. Só saberemos depois de mais dados serem reunidos e analisados.
— Quanto tempo demora isso?
— Doze horas, pelo menos, se calhar até mais.
— E, entretanto, encontraremos o satélite.
— Pode conter as respostas a tudo. — Painter fitou-o com intensidade. — Quando pode partir?
—Agora. Se a Kat se encarregar da logística...
Ela recostou-se na cadeira.
— Posso pôr a equipa do comandante Pierce na Mongólia ao nascer do dia.
— E a equipa do Monk? — perguntou Gray.
— Acabei de ter notícias do Cazaquistão — disse Kat. — Uma tempestade vai impedi-los de se mexerem durante algum tempo. Mas, no caso de não haver mais problemas, poderão encontrar-se com vocês em Ulan Bator por volta do meio-dia.
— Então, vamos a isso — disse Painter. Precisamos de tanta gente no terreno quanto for possível. A Seichan quer partir convosco?
A caminho da reunião, Gray tinha visto Guan-yin no corredor a tentar esconder as lágrimas. Ia voltar de avião para Hong Kong a fim de assistir os membros da tríade que ainda corriam perigo. Tais lágrimas permitiam-lhe dar uma resposta a Painter.
— Creio que a Seichan quer vir connosco.
— Ótimo.
Painter despediu-se rapidamente. Tinha múltiplos assuntos a tratar.
Gray olhou para o ecrã apagado, pensando novamente na destruição na Antártida e reconhecendo a urgência do assunto.
É bom que o Monk não chegue atrasado.
17
19 DE NOVEMBRO, 00H17, QYZT
MAR DE ARAL, CAZAQUISTÃO
Rachel e os seus companheiros apressaram-se a regressar ao santuário do padre Josip. No fundo do labirinto de túneis e câmaras, o uivo da tempestade alcançou-os quando a tempestade se abateu sobre o navio abandonado, silvando pelas brechas do casco enferrujado e abanando-o.
À superfície, o piloto tentava proteger o helicóptero, posicionando-o a sotavento daquela montanha de aço corroído e fazendo o possível para vedar e cobrir o motor e as partes móveis, protegendo-as do sal e da areia.
Entretanto, o pessoal de Josip ocupava os níveis mais abaixo, alheios à confusão e ao perigo, pois estavam habituados a abrigarem-se ali quando a natureza se tornava demasiado violenta à superfície. Descansavam, jogavam às cartas ou dedicavam-se simplesmente a qualquer tarefa para passar o tempo.
O bem-estar deles não consolava lá muito Rachel.
— Vamos pôr a caixa em cima da mesa — ordenou Monk a Duncan.
Enquanto os dois homens atravessavam a sala com o cofre de prata, Jada sacudia areia do cabelo e pó e sal da roupa. Mas não era a única pessoa naquele estado.
Sanjar tentava convencer o falcão a pousar no poleiro. Irritado, Heru bateu as asas várias vezes, mas, por fim, obedeceu e o jovem acalmou-o, alisando-lhe as penas por trás do pescoço.
A fim de apreciar a habilidade do rapaz, Rachel veio pôr-se ao lado dele.
O tio dela estava interessado em outras coisas.
— Temos de examinar isto minuciosamente — disse a Josip. — Para sabermos o que fazer a seguir.
Josip concordou com um movimento de cabeça. O seu olhar era vago.
Manteve-se de pé a fitar uma estante de costas para a mesa, enquanto Monk e Duncan pousavam a caixa junto das outras relíquias.
Arslan aproximou-se do padre como se fosse fazer-lhe uma pergunta.
Mas, em vez disso, apontou-lhe o cano de uma pistola preta.
— Quero toda a gente longe dessa mesa! E ponham as mãos no ar!
Apanhados de surpresa, ninguém se mexeu. Homens armados com espingardas de assalto e espadas curvas invadiram a sala. Pareciam fazer parte da equipa de escavação contratada por Josip.
Detonações ecoaram no corredor.
Rachel percebeu que estavam a atacar os restantes trabalhadores. Pensou no atentado na universidade e na bomba em Aktau. O inimigo tinha-se aproximado mais deles do que suspeitavam.
Josip virou-se para Arslan com ar confuso.
— Que se passa?
Em resposta, Arslan deu-lhe um murro, ferindo-o na boca. Depois, obrigou-o a virar-se torcendo-lhe um braço e encostou a pistola às suas costas.
— Que estás a fazer, primo? — gritou Sanjar, avançando.
— Faço o que o Mestre do Lobo Azul mandou — respondeu Arslan. — E tu vais obedecer. Assim como eu, também prestaste juramento.
Josip virou-se para Sanjar com uma expressão magoada.
— Vai-te agora embora, primo — ordenou-lhe secamente Arslan, fazendo-lhe sinal com a cabeça para a porta. — Ou serás enterrado, como eles, aqui.
Sanjar recuou.
— Concordei vigiar o padre Josip e assinalar as suas ações... mas isto não, nunca fazer tal coisa. Ele é um homem bom. E os outros não fizeram nenhum mal.
— Então, morre juntamente com eles — vociferou Arslan com desdém. — Sempre foste fraco de mais, Sanjar. Mimado pelos teus pais ricos que desprezam os primos pobres, andas com a cabeça ao vento como a tua ave. Nunca foste um autêntico guerreiro de Gengis Khan.
Virando-se para o lado, Arslan gritou para o seu bando em mongol. Quatro homens avançaram rapidamente e, apoderando-se das relíquias, recuaram depois para a porta.
Rachel viu o tesouro, que com tantas dificuldades tinham encontrado, desaparecer.
Arrastando o padre Josip à sua frente como refém e escudo, Arslan retirou-os depois de ordenar aos seus homens que começassem a fechar a pesada porta de aço.
Do umbral da porta, Arslan proferiu uma ameaça final.
— Quando vocês se ausentaram, os meus guerreiros puseram explosivos neste ninho de ratos. As rochas transformar-se-ão em poeira e o navio afundar-se-á, esmagando-os com o seu peso. Será esta a vossa sepultura e ninguém há de alguma vez saber o que aconteceu aqui.
Os homens dele mantinham as armas apontadas, sobretudo a Monk e Duncan, pois reconheciam que eram estes dois quem podia contrariar os seus planos.
— Matem-nos — ordenou Arslan. — E depois venham ter connosco lá em cima.
Sanjar lançou um olhar a Rachel, fazendo-lhe depois sinal com os olhos na direção do falcão.
Ela demorou uns segundos, mas acabou por compreender.
Sem que o bando desse conta, ela aproximou-se da ave e tirou-lhe o capuz.
Sanjar gritou-lhe uma ordem na sua língua nativa e apontou para Arslan. O
falcão lançou-se em voo do poleiro, subindo para as traves de madeira que sustinham o teto de grés.
Choveram tiros sobre a ave. As detonações ecoavam nos ouvidos de Rachel.
Incólume, Heru mergulhou a pique, uma flecha com plumas disparada por Sanjar. As garras atacaram Arslan, rasgando-lhe o rosto e o crânio. O homem caiu de joelhos no chão a gritar de dor.
E então uma rajada de tiros explodiu no meio da sala.
00h38
Assim que o homem que estava mais perto apontou a arma para o teto, Duncan entrou em ação, derrubando-o. A cabeça dele bateu com toda a força no canto da mesa e o homem caiu, inanimado.
Agarrou depois na espingarda e rolou no chão, eliminando, ainda deitado de costas, um segundo bandido com uma rajada no peito. Balas ricochetearam na pedra por entre as suas pernas, obrigando-o a meter-se debaixo da mesa.
Deste abrigo improvisado, acertou na rótula esquerda de mais um adversário e, quando este cambaleou, enfiou-lhe um tiro entre os olhos.
Viu outro atacante, de gatas, a apontar para baixo da mesa.
Mas então a pesada estante caiu em cima dele, esmagando-o. Monk entrou em cena e, com um golpe da mão protética na garganta de um dos homens de Arslan, pô-lo fora de combate. O pobre-diabo caiu com a laringe esmagada, contorcendo-se e sufocando no próprio sangue.
À porta, um dos homens de Arslan tinha por fim conseguido afastar o falcão do chefe à cacetada.
E Josip, aproveitando a confusão, fugiu para o fundo da sala.
Dois tiros ecoaram ruidosamente.
O padre cambaleou com o peito em sangue e tombou de encontro a Monk, que o amparou.
A pistola de Arslan ainda fumegava quando os seus homens arrastaram o seu corpo ensanguentado pela porta. Duncan disparou contra eles, mas a porta fechou-se com um estrondo metálico.
Levantando-se, Duncan correu para a porta e tentou arrombá-la com o ombro, mas ela nem se mexeu. Tinham sido trancados por fora.
Examinou rapidamente a sala.
Jada ergueu-se por trás de outra estante. Monk tinha-a empurrado para lá assim que foram disparados os primeiros tiros.
Sanjar ajoelhou-se junto de Heru, que, caído no chão, mexia debilmente as asas.
Rachel e Vigor precipitaram-se em direção a Josip, que arquejava estendido no chão.
Mas ao verem a poça de sangue por baixo do padre, perceberam que o amigo não tinha muito tempo de vida — o que era provavelmente verdade para todos eles.
00h40
Não, não, não...
Vigor ajoelhou ao lado do amigo recém-chegado de entre os mortos para morrer de novo, um homem que as Parcas tinham já tão cruelmente afligido, dotando-o simultaneamente de inteligência e loucura. Não merecia acabar assim.
Pegou na mão do amigo e preparou-se para lhe ministrar os sacramentos finais.
Josip fitou-o com uma expressão incrédula no olhar, sangue nos lábios e sem conseguir falar, os pulmões retalhados pelas balas de um traidor.
— Não te mexas, meu querido amigo.
O corpo frágil do padre repousava no colo de Monk.
E Vigor, agarrado à sua mão, tentava transmitir-lhe todo o seu amor. Nada mais podia fazer. Tinha visto isso nos olhos de Monk.
Sem voz, Josip encontrou forças para encostar a mão de Vigor ao seu peito ensanguentado e o monsenhor sentiu o coração do amigo a palpitar.
— Também terei saudades tuas.
Leu no olhar de Josip o combate para resistir à morte e o pesar. Este sabia o perigo que o mundo corria e que não podia fazer mais nada para ajudar.
— Carregaste este fardo durante tempo suficiente, meu amigo. Deixa-me carregá-lo agora.
Josip continuou a olhar fixamente para Vigor enquanto este lhe ministrava a extrema-unção.
— Repousa em paz — murmurou o monsenhor.
E foi o que ele fez.
00h42
Duncan ajudou Monk a estender Josip em cima da mesa.
— Desculpem — disse Duncan. — Quem dera que tivéssemos tempo para o enterrar como deve ser.
Vigor reteve as lágrimas e assentiu com a cabeça, olhando em torno da biblioteca em desordem. — É um bom lugar para ele.
Monk incitou-os.
— Não vamos torná-lo também na nossa sepultura.
— Há alguma outra saída? — perguntou Duncan, voltando-se para Sanjar.
Sanjar tinha envolvido o falcão com uma manta.
— Lamento, mas não há. Os outros túneis conduzem apenas a mais salas.
Não se pode passar por lá. A única saída é por esta porta.
Duncan sabia que, no melhor dos casos, tinham somente uns minutos para escaparem. Logo que Arslan e os seus homens evacuassem o navio, rebentariam com os níveis mais baixos. A sua única esperança era que os assassinos perdessem tempo a procurar objetos de valor, mas não podia contar com isso.
Jada levantou-se de olhos esbugalhados e com os braços em volta de si mesma.
— Querem dar cabo de nós — murmurou a tremer.
— E talvez o consigam — admitiu Duncan sem ver qualquer motivo para minimizar a situação.
Ela irritou-se.
— Não era isso que eu queria dizer. Pensa um pouco. Se não estivéssemos em vantagem, estaríamos mortos. As bombas eram para enterrar os nossos corpos nesta sepultura anónima.
Duncan continuava sem perceber.
— Não deveríamos estar vivos neste momento — continuou ela cada vez mais animada. Fez um gesto com a mão em volta da sala. — Aquele idiota disse que tinham posto bombas por todo o barco. Portanto, porque não aqui também? É o nível mais baixo. Ele pensou que já estaríamos mortos.
Claro...
Monk praguejou e pôs-se a examinar as paredes.
Amaldiçoando a sua estupidez, Duncan percorreu o outro lado. Levou menos de trinta segundos a encontrar uma das bombas. Estava escondida na base de uma grossa estrutura de madeira que ajudava a sustentar o teto.
— Já descobri uma! — avisou.
— E eu encontrei outra aqui — gritou Monk do outro lado da sala.
— Tira-lhe o transcetor! — preveniu Duncan. — Mas tem cuidado!
— Achas que ele consegue desmontar todas a tempo? — perguntou Rachel, que, entretanto, o seguira.
— Não é esse o plano — respondeu enquanto prosseguia a sua busca. — Foram provavelmente postas em todo o lado.
Soltou, com muita cautela, o explosivo de plástico, atento ao transcetor e à espoleta, e depois correu para a escotilha de aço.
E Monk também foi lá ter com outro transcetor na mão.
Duncan enfiou o bocado de explosivo nas dobradiças da escotilha e abriu o transcetor, dispositivo que continha um transmissor de rádio e um recetor.
Regulou com a unha o recetor, mudando-o para uma posição diferente das outras cargas explosivas colocadas neste autêntico labirinto.
Não quero rebentar com isto tudo.
Depois tirou o transcetor da mão de Monk.
— Sabes o que estás a fazer? — perguntou-lhe o parceiro.
— Não tirei todos aqueles cursos de engenharia eletrotécnica para trabalhar numa loja de aparelhos elétricos. — Trabalhando com rapidez, ajustou o transmissor a uma nova frequência e depois fez sinal para toda a gente se afastar. — Abriguem-se e tapem os ouvidos!
Recuou com o grupo e agachou-se atrás de uma estante sólida, aproximando o polegar do minúsculo botão vermelho do transmissor. A carga manipulada deveria ser a única a reagir a esta nova frequência — mas no que diz respeito a explosivos e rádios, por vezes acontecem coisas más a bons engenheiros.
Premiu o botão.
A explosão ensurdecedora que se seguiu levou Duncan a pensar que tinha falhado e que rebentara com tudo. Fumo e pó rolaram pelo espaço. De pé, cambaleou e tossiu.
A escotilha tinha desaparecido, bem como um bom pedaço da parede em volta.
Monk veio ter com ele, soando como se estivesse a falar debaixo de água.
— Se calhar o filho da mãe ouviu o barulho.
Duncan concordou.
Por outras palavras: Fujam!
00h46
À luz das lanternas, Jada corria escada acima atrás de Duncan, que ia à frente, enquanto Monk e Rachel ajudavam Vigor a subir os íngremes degraus.
Jada esperava que o mundo explodisse à sua volta a qualquer altura, esmagando-a por baixo de toneladas de pedra e enterrando-a em areia e sal.
A saída que conduzia ao porão do navio parecia estar a uma distância impossível de alcançar. O labirinto aumentava à volta dela, mais alto e mais largo, proporcionalmente ao seu terror. Acima dela, o vento assobiava e uivava pelo casco corroído, obrigando-a a correr mais depressa.
— Não estamos muito longe! — disse Duncan ofegante, avançando a passos largos de espingarda na mão.
Ela esticou o pescoço, mas o corpo dele à sua frente tapava-lhe a vista.
Mais cinco metros e sentiu aço por baixo das botas em vez de rochedos. O
grupo subiu o último lance num tropel metálico...
... e então o solo estremeceu violentamente, acompanhado pelo som da terra a abrir-se.
Todos caíram de joelhos nas escadas incrustadas de sal. Uma vaga de areia, fumo e poeira vinda da parte de baixo sufocou-os, deixando-os às cegas.
Jada trepou o resto das escadas de gatas, guiada pelo brilho da lanterna de Duncan. Uma mão agarrou a dela e içou-a das escadas como se ela fosse mais leve do que uma pluma.
Novamente de pé, ela desviou-se enquanto Duncan puxava também os outros para dentro do porão.
— Corram para a saída! — gritou-lhes ele, apontando para a abertura a bombordo.
Ela virou-se, mas escorregou e perdeu o equilíbrio quando, de súbito, o barco se inclinou. A popa descaiu bruscamente por baixo dela com um gemido metálico, enquanto a proa se erguia. Imaginou metade do navio de mil toneladas a desabar e a atolar-se no buraco aberto quando o labirinto em baixo implodisse.
Meio século de areia acumulada pelo vento ao longo do casco escorreu para a popa.
Arrastada pela maré de areia, Jada não conseguiu manter-se ali mais tempo.
Caiu de joelhos e começou a escorregar pela inclinação abaixo. E os outros não se saíram melhor, incapazes de manterem o equilíbrio quando a areia se precipitou como uma catarata, escorrendo cada vez mais depressa e lançando-os a todos em direção da proa a afundar-se.
Jada debateu-se, esbracejando como uma nadadora prestes a afogar-se.
E talvez fosse.
Atrás dela, um turbilhão de areia ameaçava traiçoeiramente engoli-la e, à sua frente, uma torrente de areia abatia-se de modo vertiginoso sobre ela, pronta a submergi-la assim que a encurralasse.
Foi então que Duncan passou velozmente por ela meio a patinar, meio a surfar, sem resistir, como os outros, à força da vaga de areia.
E desapareceu envolto numa nuvem de poeira mais adiante.
Teria simplesmente desistido?
00h50
Deslizando à superfície da areia, o objetivo de Duncan era a única esperança de sobrevivência.
Lembrou-se da chegada mais cedo nesse dia, quando o Land Rover tinha saído da garagem improvisada na popa do navio para confrontar os recém-chegados.
Quando o mundo se virara às avessas há pouco, ele tinha visto o Land Rover ainda lá estacionado. Apontou para o veículo já enfiado na areia até ao eixo das rodas. Chocou contra o para-choques e agarrou-se ao capô, esgueirando-se depois para o interior por uma janela aberta e sentando-se ao volante.
Encontrou as chaves ainda na ignição.
Graças a Deus...
Com uma torção do pulso e um pé no acelerador, sentiu os pneus rodar, lançando areia para trás. O veículo começou a mover-se e os pneus subiram aos poucos o casco inclinado.
Monk tinha percebido a intenção de Duncan e deixava-se arrastar pela torrente de areia. Ao aproximar-se do Land Rover, saltou para o capô, aterrando de barriga para baixo e fazendo um protético sinal com os polegares para cima a Duncan.
— Continua a subir! — gritou.
Duncan abrandou a meio da subida enquanto Monk salvava os outros do remoinho de areia. Vigor deslizou no capô até as costas ficarem encostadas ao para-brisas e pouco depois Rachel juntou-se a ele. Agarrada ao guarda-lamas da direita, Jada ajudou Monk a socorrer Sanjar, que continuava a segurar o falcão.
Com todos a bordo, Duncan pisou o acelerador, subindo a baixa velocidade.
Imaginou o peso maciço do navio a passar para a popa e a enterrar-se mais fundo no complexo subterrâneo.
Mesmo com pneus para a areia e tração às quatro rodas, o Land Rover derrapava. Duncan retinha a respiração sempre que o veículo escorregava pois sabia que, se caíssem e fossem ter novamente à popa, podiam nunca mais de lá sair. Se isso acontecesse, seriam rapidamente enterrados vivos assim que cinco décadas de areia e sal acumulados no navio enchessem a popa.
A pressão a que estava sujeita a estrutura de aço fazia o barco ranger.
Pranchas do casco soltavam-se, explodindo como tiros, e despenhavam-se na popa. Estava tudo a desmoronar-se.
Tomando a direção de bombordo, o veículo chegou finalmente à abertura cortada no casco. Com o navio inclinado, a abertura ficava a vários metros de altura e, assim, tinham de se arriscar a saltar.
Duncan tentou estabilizar a viatura enquanto Monk ajudava os companheiros a passar, um a um, pela abertura no meio da tempestade.
— A seguir és tu! — gritou Monk contra o vento que soprava pela abertura.
— Vai tu primeiro! Eu já lá vou ter contigo! — respondeu Duncan, acenando com a mão.
Era mentira. Duncan nada podia fazer. No momento em que deixasse de acelerar, o Land Rover rolaria imediatamente para trás.
Monk fitou-o pelo para-brisas e percebeu a sua determinação — e depois virou-se com ar carrancudo e saltou na direção da abertura mas, em vez de passar para o outro lado, segurou-se à borda mais baixa com a mão protética e estendeu o outro braço.
— Aproxima-te de mim! — gritou. — E depois agarra-te à minha mão!
Duncan hesitou, sabendo que uma manobra dessas podia acabar com ambos mortos.
— Não me obrigues a ir buscar-te! — berrou Monk.
O tipo era bem capaz disso.
Sabendo disso, Duncan acelerou e avançou uns metros, os pneus resvalando na areia enquanto ele fazia o possível para não deixar o carro descair. Com uma mão no volante, estendeu o outro braço fora da janela.
Monk agarrou-lhe os dedos e depois o punho, com força.
Murmurando uma prece, Duncan largou o volante, tirou o pé do acelerador e saiu pela janela. Como ele suspeitava, o Land Rover despenhou-se imediatamente, deixando-o pendurado na mão de Monk.
Soltou um suspiro de alívio.
Mas era prematuro.
Nesse preciso momento, o navio partiu-se ao meio.
01h04
Apenas a uns metros, encolhida contra a tempestade, Jada viu uma fratura abrir-se a meio do navio e este dividir-se em dois com um uivo metálico. Toda a proa desabou com estrondo.
Todos fugiram quando os destroços começaram a chover à volta deles, açoitados violentamente pelo vento. Remoinhos de areia obscureciam tudo, impedindo-os de ver um palmo além do nariz.
Duncan... Monk..
Soprando com força pelas salinas, a constante ventania rapidamente dispersou a poeira.
Jada procurou desesperadamente por entre o que restava do barco.
E, de súbito, avistou dois pequenos vultos a emergir do porão e a tombar na areia. Por sorte, a fratura do navio abrira-se por cima da abertura, poupando-lhes por conseguinte a vida.
Em terra, Monk ajudou Duncan a atravessar os recifes de aço afiado que juncavam as proximidades do barco. Segurava o homem mais novo por um braço enquanto este avançava a coxear.
Jada correu para eles, protegendo o rosto do vento. O seu coração estremeceu ao ver uma perna das calças de Duncan encharcada de sangue.
— Que aconteceu? — perguntou.
— Tentei afundar-me juntamente com o navio — disse Duncan. — Mas Monk convenceu-me a não o fazer.
— Vamos continuar a andar — sugeriu Monk, encarquilhando os olhos e notando que faltava alguém. — Onde está Sanjar?
Jada olhou em volta. Não tinha reparado que ele desaparecera.
— Foi ver o que aconteceu ao nosso piloto — respondeu Vigor.
Jada lançou um olhar ao helicóptero, sentindo-se culpada. Nem sequer pensara no que podia ter acontecido ao pobre homem. Algures no fundo da sua mente, devia ter suposto que ele estava morto, assassinado como o resto da equipa de Josip no início do assalto.
Monk e Duncan dirigiram-se para o helicóptero. Encontraram três corpos, estendidos em poças de sangue, ao longo do caminho.
Duncan examinou-os. — Parece que o nosso rapaz se bateu com coragem.
— E, ao mesmo tempo, salvou-nos a vida — comentou Monk. — A sua resistência aos homens de Arslan deu-nos tempo para escapar.
Agora, Jada sentia-se duplamente culpada. Nem sequer sabia o nome do piloto.
Aproximaram-se do aparelho. Um dos lados estava cravejado de buracos de balas e o vidro da cabina rachado.
Uma busca rápida não revelou quaisquer sinais de Sanjar.
E então, duas figuras encostadas uma à outra e encolhidas contra o vento emergiram da tempestade sombria.
Eram Sanjar e o piloto.
Monk deixou Duncan com Jada e foi socorrer os recém-chegados.
— Segui o seu rasto de sangue desde o helicóptero — explicou Sanjar.
— Alvejaram-me na parte de cima da perna — disse por sua vez o piloto. — Encurralado por baixo do helicóptero, pensei que estava perdido, mas então deu-se uma grande explosão e aproveitei a confusão que se seguiu para fugir e me perder no meio da tempestade. O que, pelos vistos, deu resultado.
Jada pensou na porta arrombada no fundo do barco.
Afinal de contas, parece que nos salvámos uns aos outros.
— O helicóptero ainda está em condições de voar? — perguntou Monk.
O piloto franziu o sobrolho, examinando os estragos.
— Com este tempo, não. Mas com um pouco de plasticina e cola, talvez consiga pô-lo a voar outra vez.
— Boa! — exclamou Monk.
Como as rajadas de vento se tornassem cada vez mais fortes, todos se refugiaram na cabina do aparelho. Mas a tempestade era o menor dos seus problemas.
Monk virou-se para Sanjar, que cuidava do falcão, pousado num assento.
Devia ter deixado a ave no interior do helicóptero quando fora à procura do piloto.
— Sabes onde fica o sítio onde Arslan ia buscar as relíquias? — perguntou-lhe.
— Não tenho a certeza, mas o mais provável é que fosse em Ulan Bator.
Vigor insistiu.
— Mas a quem as entregava depois?
— Isso já sei ao certo. Passava-as ao chefe do meu clã. Um homem a quem chamam Borjigin, Mestre do Lobo Azul.
— Esse também era o antigo título de Gengis Khan — declarou Vigor.
Sanjar confirmou com um movimento de cabeça.
— Qual é o verdadeiro nome dele? — perguntou Monk.
— Não sei. Ele usa sempre uma máscara de lobo quando vem ver-nos. Só Arslan conhecia a sua identidade verdadeira.
— Isso agora de nada nos serve — rosnou Duncan enquanto punha uma ligadura à volta de um profundo corte na perna.
— Sem a última relíquia, estamos condenados — concluiu Vigor.
Jada olhou pela janela quando a tempestade começou a amainar, permitindo que se avistasse o clarão do cometa no céu noturno. Como cientista, ela confiava em números e factos, provas sólidas e cálculos rigorosos. Troçava das superstições que os tinham conduzido a esta missão no mar de Aral e considerava-as irrelevantes.
Mas, ao olhar para o céu, perdeu a esperança, no seu coração sabia a verdade.
O monsenhor tinha razão.
Estavam condenados.
TERCEIRA PARTE
JOGO DAS ESCONDIDAS
18
19 DE NOVEMBRO, 11H09, ULAT
ULAN BATOR, MONGÓLIA
— E todos vocês acreditam que esta cruz é importante — disse Gray.
Estava sentado com os outros numa suíte com vários quartos do Hotel Ulaanbaatar, localizado no centro da capital. A fachada do edifício era em estilo industrial soviético, uma relíquia do seu passado opressivo, mas o interior era uma amostra de elegância e modernismo europeu, e representava a nova Mongólia, país em busca de um futuro independente.
A suíte até tinha uma sala de conferências com uma mesa comprida.
Estavam todos sentados — a equipa de Monk num lado e a de Gray no outro.
Há apenas uma hora, um conhecido indivíduo careca e sorridente tinha vindo bater à porta de Gray. E Monk dera-lhe um abraço de urso, quase abrindo de novo o seu ferimento no ombro. O novo parceiro, Duncan Wren, tinha entrado atrás dele acompanhado por um jovem mongol vestido com um casaco de pele de carneiro e segurando na mão um contentor para transportar animais de estimação, dentro do qual alguma coisa se agitava.
Mas foi o par que chegou por último que desencadeou a mais forte reação de Gray, uma mistura de alegria, recordações calorosas e profundo afeto.
Gray abraçou Vigor com o mesmo entusiasmo que Monk lhe manifestara há pouco e achou que o monsenhor continuava igual a si mesmo: duro, resoluto, mas de disposição doce. Mas notou que estava mais magro, gasto. Até mesmo o rosto parecia macilento.
E depois havia Rachel.
Gray tinha-a saudado tão calorosamente como aos outros, recordando confusamente outros momentos. Ela ficou agarrada a ele mais tempo do que uma amizade normal justificaria. Os dois tinham sido íntimos durante algum tempo e até chegaram a falar em viver juntos uma situação mais duradoura, mas a emoção do romance desvaneceu-se perante as realidades práticas de uma relação à distância. E optaram então por uma profunda amizade, embora não se furtassem a algo mais físico ocasionalmente, sempre que os seus caminhos se cruzavam.
As circunstâncias tinham, contudo, mudado desde então...
Gray olhou para a mulher sentada diante de Rachel.
Seichan estava a par dessa história e tinha uma relação complicada com Rachel, mas as duas tinham chegado a um acordo e, embora de modo cauteloso, respeitavam-se mutuamente.
Após dar tempo à equipa de Monk para se instalar, Gray chamou-os à sala de reuniões pois precisavam de decidir o que fazer daí em diante. Todos eles agiram com franqueza.
Depois de pedir licença a Painter, Monk tinha partilhado os pormenores acerca do satélite caído com Vigor, Rachel e até mesmo com Sanjar. O jovem oferecera os seus serviços de guia na área rigorosamente protegida de Khan Khentii, a região montanhosa a noroeste da cidade.
As imagens de destruição captadas pelo engenho espacial a tombar e os recentes acontecimentos na Antártida moderaram o ambiente jovial da reunião.
Todos compreendiam agora o que estava em jogo.
Mas Gray continuava com dúvidas acerca de um pormenor. O grupo de Monk tinha-lhe contado o que se passara no Cazaquistão. Todos eles pareciam convencidos de que a cruz, transportada por São Tomé no passado, estava relacionada com a catástrofe anunciada.
Até a doutora Jada Shaw achava que era fundamental encontrá-la.
E explicou.
— Sei, pelas minhas observações e cálculos, que o cometa IKON está a difundir uma energia invulgar que desencadeia anormalidades gravitacionais.
— Que você acredita ser causada por energia negra — disse Gray.
— A única coisa que posso dizer é que essas anomalias ajustam-se na perfeição aos meus cálculos teóricos.
— E a cruz?
— Na opinião de Duncan, as relíquias antigas também emanam alguma forma de energia. Achamos que é porque Gengis Khan foi exposto e contaminado por essa mesma energia por ter usado essa cruz junto ao corpo durante muitos anos.
Com os olhos brilhando de convicção, enumerou informação adicional contando-a pelos dedos.
— Primeiro, a história da cruz está associada à colisão de um meteoro.
Segundo, está ligada fisicamente à profecia de uma catástrofe que ocorrerá dentro de uns dois dias e meio, o mesmo lapso de tempo da imagem do satélite.
Terceiro, emite uma energia estranha que deixou vestígios nessas relíquias. Acho que vale a pena investigar ou, pelo menos, alguém deveria verificar isso.
— Mas não você — disse Gray, contestando tal convicção.
Jada suspirou.
— Serei mais útil indo à procura dos destroços do satélite caído. A minha especialidade é a astrofísica. Conheço o engenho espacial por dentro e por fora.
Mas, por outro lado, os meus conhecimentos de história não ultrapassam as últimas eleições presidenciais.
Já fora decidido que Jada, Duncan e Monk seguiriam diretamente para o local da queda, numas montanhas distantes. E Sanjar seria o seu guia e intérprete. Gray queria acompanhá-los, mas Monk e a equipa concordavam que alguém teria de procurar a cruz, que, segundo a profecia do santo, era vital para a sobrevivência da humanidade.
Vigor mostrava-se inflexível. Tinham de prosseguir este caminho e, para isso, ele precisaria de apoio logístico e proteção. Todos olharam para Gray, à espera de uma decisão final.
Ele ainda hesitava, e por bons motivos.
— Vocês perderam essa última relíquia, a qual continha o único indício para localizar a cruz.
— Mas havemos de encontrá-la outra vez — disse Vigor.
— Como? Não sabem para onde foi levada e desconhecem a identidade desse misterioso chefe de clã. Com o tempo a passar, o melhor plano parece ser combinar os nossos recursos e irmos juntos em busca do satélite. De momento, os destroços do engenho espacial são a nossa melhor opção para ficar a saber mais sobre essa catástrofe iminente. E esse conhecimento, e não a cruz, constituiria a melhor arma para a evitar.
Até mesmo Jada se afundou no assento, reconhecendo a sensatez de tal plano. Mas ela era uma cientista, habituada a seguir os preceitos da lógica.
Vigor, por outro lado, era um homem de coração e fé. Cruzou simplesmente os braços sem se deixar convencer.
— Não sou útil para ninguém nesta expedição, comandante Pierce. Fiz uma promessa ao padre Josip e tenciono mantê-la. Continuarei à procura da cruz, nem que seja sozinho.
O olhar de Rachel cruzou-se com o de Gray. Estava preocupada com o tio e ambos sabiam como ele era teimoso. Não queriam que Vigor prosseguisse a busca sozinho. O perigo era visível em todas as lesões e ferimentos que tinham sofrido até agora.
Os olhos dela suplicaram-lhe que convencesse o tio a abandonar tal projeto.
E, com essa finalidade, Gray dirigiu-se a Sanjar, o qual poderia explicar melhor a futilidade dessa intenção.
— Já nos disseste que ignoras a identidade desse chefe do clã a quem tratam por Borjigin, o Mestre do Lobo Azul, mas sabes que ele tem muitos recursos e pode tornar-se impiedoso.
— É verdade — concordou solenemente o rapaz. — Os seus sequazes mais fanáticos, como o meu primo Arslan, farão tudo para o servir. Para eles, Gengis Khan é um deus e Borjigin o seu enviado, que, prometendo-lhes um futuro ainda mais brilhante, há de conduzi-los à glória do passado.
O eco dessa mesma paixão nacionalista ressoava no jovem mongol, mas Sanjar não tinha bebido as palavras do Mestre do Lobo Azul até à última gota.
— Borjigin declara ser descendente direto do grande imperador. Lembro-me de que, uma vez...
Sanjar calou-se bruscamente. Endireitou-se de olhos muito abertos e levou a mão à testa.
— Sou um palerma.
Vigor virou-se para ele.
— Que foi, Sanjar?
— Só me lembrei disso agora.
Baixou a cabeça em direção a Gray, como se lhe agradecesse — mas agradecia-lhe porquê?
— Como prova dessa reivindicação, Borjigin mostrou-nos uma vez uma bracelete de ouro, um tesouro que, segundo ele disse, pertencera ao próprio Gengis Khan. Duvidei na altura, pensando que ele estava simplesmente a gabar-se. — Virou-se, a seguir, para Vigor. — Mas ontem ouvi o que o padre Josip confessou no Cazaquistão. Sabia que tinha vendido um tesouro para financiar as escavações, mas só naquele momento percebi do que se tratava.
A voz de Vigor tornou-se mais intensa.
— Estás a referir-te a uma bracelete de ouro, com o nome de Gengis Khan inscrito, que foi encontrada na sepultura de Átila. Poderia ser a mesma? — perguntou, apertando o braço de Sanjar. — Aquela que viste Borjigin usar tinha imagens de uma ave renascida das cinzas rodeada por demónios?
Como quem pede desculpa, Sanjar lançou um olhar ao monsenhor.
— Não a vi de perto. Só à distância e apenas daquela vez. Foi por isso que, até este momento, não relacionei as coisas.
Soltou o braço do aperto de Vigor.
— E posso estar enganado — admitiu. — Os negociantes de antiguidades em Ulan Bator possuem objetos que dizem terem pertencido a Gengis Khan. E
braceletes de ouro não são invulgares. A arte da falcoaria ainda é muito apreciada nestas paragens e muita gente ainda usa esse género de apetrechos por tradição, em homenagem ao nosso glorioso passado. Desde as de cabedal, como a minha. — E, mostrando o pulso, expôs uma grossa bracelete de cabedal com marcas de garras de ave. — Ou algo mais requintado, usado como uma joia.
— Mas em que nos ajuda essa informação? — insistiu Gray. — Não ficamos mais adiantados quanto à identificação de Borjigin por sabermos que este usa a mesma peça que o Josip vendeu para financiar as escavações.
Sanjar passou os dedos pelo cabelo.
— Porque sei a quem o padre Josip a vendeu.
Rachel agitou-se.
— Fiz essa mesma pergunta a Josip.
— E eu não a considerei importante — murmurou Vigor com ar desanimado.
— Estavas apenas a tentar proteger os sentimentos de Josip, tio. Ignoravas a importância dessa informação.
Gray fitou atentamente Sanjar.
— Quem comprou a peça do Josip, essa bracelete de ouro?
— Pode até nem ser verdade... Foi uma conversa que ouvi entre trabalhadores. Pareciam convencidos de que fora vendida a um indivíduo importante do governo mongol.
— A quem?
— Ao nosso ministro da Justiça, um homem chamado Batukhan.
Gray considerou esta nova informação, reconhecendo que era bastante frágil. Talvez não se tratasse da mesma bracelete... Ou não tivesse sido Batukhan quem a comprara. E, mesmo que estas duas hipóteses fossem verdadeiras, o ministro podia tê-la vendido a outra pessoa há muito tempo.
Todos olhavam para ele.
— Vale a pena verificar a questão — acabou por admitir. — Deveríamos, pelo menos, fazer uma visita a esse tipo. Mas se este ministro for realmente Borjigin, irá com certeza reconhecê-los. — Apontou a cabeça na direção de Monk — Mas a mim e a Seichan não conhece.
Vigor levantou-se, todo excitado.
— Se conseguirmos recuperar essa última relíquia...
Gray estendeu uma mão. — É um grande «se». Estou disposto a atrasar a busca dos destroços do satélite, mas é bastante arriscado. — Virou-se para o outro lado da mesa. — Monk, levas Duncan e Jada com Sanjar para as montanhas. Tens os pontos indicados por Painter no GPS que marcam a grelha de busca, certo?
O comando da Sigma tinha reajustado as estimativas da trajetória do satélite ao despenhar-se, concentrando os parâmetros numa área tão pequena quanto possível.
— Ainda é muito terreno para cobrir — disse Monk.
— Então vamos começar imediatamente. Entretanto, eu e Seichan vamos investigar esse ministro. Deixarei Kowalski de guarda a monsenhor e a Rachel aqui no hotel. Se não acontecer nada, iremos ter com vocês às montanhas.
Monk levantou-se, pronto a partir.
Kowalski espreguiçou-se a resmungar.
— Pois, é boa ideia separarmo-nos. Tem dado excelente resultado.
12h02
Seichan andava agitadamente de um lado para o outro no quarto. Depois de Monk e o seu grupo partirem, tinha vindo aqui para fazer uma pequena sesta.
Na sala ao lado, Gray elaborava com Kat o perfil do ministro da Justiça da Mongólia, incluindo onde ele morava e trabalhava, assim como uma planta de ambos os lugares. Tinham também reunido documentos financeiros e uma lista de associados conhecidos, sócios de negócios e tudo o que fosse útil antes de abordarem o inimigo.
Caso ele fosse verdadeiramente o inimigo.
Ninguém era jamais quem parecia ser. Há muito tempo que aprendera isso, ao ser atirada em criança para a realidade do mundo, onde toda a gente estava à venda e os seus rostos eram tão falsos como a máscara de lobo do chefe do clã.
Não podia baixar a guarda, nem mesmo ao pé de Gray.
Não tinha medo de que ele visse o seu rosto verdadeiro, mas receava não ter rosto. Após ter passado tantos anos a desempenhar papéis diferentes para sobreviver, temia que não restasse nada. Se baixasse a guarda, sobraria alguma coisa?
Será que não passo de tecido cicatricial e instinto?
Uma pancada na porta tirou-a dos seus pensamentos.
— Sim...? — respondeu, satisfeita pela interrupção.
A porta abriu-se e Rachel enfiou a cabeça dentro do quarto.
— Não sabia ao certo se já tinhas adormecido.
— Que queres?
A pergunta saiu-lhe mais brusca do que tencionava, revelando parte desse tecido cicatricial. Não sentia animosidade por Rachel. Apesar de não poderem nunca vir a tornar-se amigas, ela respeitava a capacidade e a inteligência aguda daquela mulher. Mas não conseguia desembaraçar-se do ciúme que sentira ao vê-la hoje. Era irracional, um instinto selvagem para proteger o seu território.
— Desculpa — tentou de novo. — Entra, por favor.
Rachel deu um passo hesitante, como se penetrasse na jaula de um leão.
— Queria agradecer-te por estares disposta a ajudar o meu tio. Se ele partisse sozinho...
Seichan encolheu os ombros.
— A decisão foi de Gray.
— Mesmo assim...
— E eu gosto do teu tio. — Seichan ficou momentaneamente surpreendida pela verdade das suas próprias palavras. Ao entrar no hotel, Vigor recebera-a com afeto, embora estivesse a par do seu passado criminoso. E uma atitude dessas tinha grande importância para ela. — Há quanto tempo está ele doente?
Rachel pestanejou várias vezes e engoliu em seco.
E Seichan compreendeu que Rachel ainda não tinha aceitado completamente essa realidade. Deveria reconhecê-la no fundo de si mesma, mas não tinha coragem para a encarar.
Pelo menos em voz alta.
Seichan fechou a porta.
— Ele recusa-se a falar do assunto — disse finalmente Rachel em tom crispado, sentando-se na beira de uma cadeira. — Penso que ele julga estar a proteger-nos, a abrigar-me.
— Mas isso é pior.
Rachel assentiu com um movimento de cabeça e limpou uma lágrima.
— Desculpa.
— Não faz mal.
— Há já algum tempo que ele não anda bem de saúde. Mas tem sido muito gradual e é fácil não levar a sério as pequenas recaídas. Mas, de repente, damos conta do seu verdadeiro estado e já não podemos negá-lo.
Rachel cobriu o rosto com as mãos e respirou fundo, tentando depois manter a compostura.
— Não sei porque estou a maçar-te com tudo isto — disse.
Seichan sabia, mas manteve-se calada. Às vezes, era mais fácil abrir o coração a uma pessoa estranha, pôr à prova emoções com alguém que não era muito importante.
— Eu... eu agradeço teres-te oferecido para cuidar dele — disse Rachel, pegando-lhe na mão. — Creio que não seria capaz de fazer isso sozinha.
Seichan ficou hirta e teve vontade de retirar a mão, mas, em vez disso, sussurrou.
— Então, havemos de fazê-lo juntas.
Rachel apertou-lhe os dedos.
— Obrigada.
Acanhada pela intimidade, Seichan retirou discretamente a mão. Sabia que Rachel não estava apenas a agradecer por ela se oferecer a ajudá-la com o tio, mas também por lhe permitir partilhar os seus receios. O silêncio alimentava as ansiedades, conferia-lhes o seu autêntico poder. Exprimi-las em voz alta era uma maneira de soltar a tensão, nem que fosse só por um breve instante.
— Tenho de voltar para junto do meu tio. — Rachel levantou-se e, ao sair, deteve-se à porta. — Gray disse que encontraste a tua mãe. Deve ter sido maravilhoso...
Seichan sentiu os nervos crisparem-se e pensou como responder.
Considerou seguir o exemplo de Rachel e contar a verdade, tentar partilhar os seus próprios temores e inquietações com outra pessoa, alguém quase estranho com quem se podia testar os sentimentos.
Mas tinha-se mantido em silêncio durante toda a vida.
Era um hábito difícil de quebrar — sobretudo agora.
— Obrigada — agradeceu Seichan, escondendo-se por trás de uma mentira.
— Foi realmente maravilhoso.
Rachel sorriu e foi-se embora.
Quando a porta se fechou, Seichan virou-se para as janelas, pronta a fazer frente ao futuro e contente por atirar os pensamentos sobre tríades em guerra, a mãe e a Coreia do Norte para trás das costas.
Sentiu, contudo, uma dor no fundo do estômago.
Sabia que o seu silêncio era um erro.
13h15, KST
Pyongyang, Coreia do Norte — Que está ela a fazer na Mongólia? — perguntou Hwan Pak.
Ju-long saiu atrás do cientista norte-coreano de um dos edifícios administrativos da prisão. Permanecia naquele campo de concentração, não como preso, mas para a sua própria proteção.
Ou, pelo menos, fora isso que lhe tinham dito.
Assim que o libertaram da sala de interrogatórios no meio da noite, tinha demorado horas a resolver o assunto e a descobrir que a prisioneira escapara da Coreia do Norte com a ajuda dos americanos. Mas claro que esse acontecimento nunca seria oficialmente reconhecido.
Mas tudo isso pôs Ju-long numa situação precária. Os norte-coreanos, em particular Hwan Pak, precisavam de alguém para intimidar e culpar. E Ju-long era o bode expiatório ideal.
No entanto, ele nunca entrava num território hostil sem um plano de emergência. Há alguns anos, tinha começado, à cautela, a marcar eletronicamente a sua mercadoria. Era prática corrente em negócios seguir a pista do inventário.
Enquanto a bela assassina estivera drogada e à sua guarda, Ju-long tinha-lhe implantado um micro-GPS. Seichan ficara bastanteferida quando, no decorrer da emboscada nas ruas de Macau, ele tinha chocado o Cadillac contra a bicicleta que ela conduzia.
O dispositivo eletrónico do tamanho de um selo fora suturado por baixo de um dos ferimentos e acabaria por ser encontrado ou a bateria gastar-se-ia, mas, a curto prazo, funcionaria às mil maravilhas.
Nessa manhã, ele tinha falado da artimanha a Pak e suspeitava que era por esse motivo que andava a ser tão bem tratado desde então. Tinham-lhe oferecido uma cama na secção reservada aos oficiais, onde finalmente repousara um par de horas. Mas antes de ir dormir, tinha telefonado para Macau e mandado ativar o GPS. Mas descobrir o paradeiro da fugitiva demorou mais tempo do que ele esperava, sobretudo porque ninguém pensou procurá-la tão longe.
— Não faço a menor ideia do que ela esteja a fazer na Mongólia — admitiu Ju-long ao chegarem ao mesmo edifício onde tudo começara, o centro de interrogatórios da prisão.
Pak dissera que tinha deixado uma coisa importante aqui, algo que os ajudaria a recapturar a mulher. Ju-long seguiu-o até ao fundo do prédio e entraram na mesma sala onde, na noite anterior, ele e Pak tinham sido encurralados.
Outro preso, de cabeça caída e com uma poça de sangue por baixo dele, estava amarrado à cadeira. Viam-se queimaduras de cigarros nos seus braços e o rosto estava tão ferido e inchado que Ju-long não o reconheceu logo.
Precipitou-se para ele.
— Tomaz!
Era o seu lugar-tenente.
Ao ouvir o seu nome, Tomaz gemeu debilmente.
Ju-long virou-se para Pak, que sorria. Parecia que estava a vingar-se sobre outra pessoa da dor que lhe fora negada na noite anterior.
— Porquê? — perguntou Ju-long, furioso.
Pak acendeu então um cigarro com prazer cruel e aspirou com força até a ponta ficar em brasa.
— Como lição. — E deu uma baforada. — Não toleramos falhas.
— Foi culpa minha a presa ter fugido? — Apontou para Tomaz. — Ou dele?
... Como?
— Não, não estás a perceber. Não te culpamos pela sua fuga, mas responsabilizamos-te pela sua captura. Vais continuar a segui-la e acompanhar um corpo de elite de operações especiais encarregado de a apanhar. Os americanos socorreram-na por algum motivo e o meu governo quer saber qual foi.
— Eu não trato de mercadoria perdida — disse Ju-long. — Entreguei-ta de boa-fé e ela estava à tua guarda quando escapou. Não percebo qual é a minha responsabilidade no caso.
— Não investigaste a mercadoria tão cuidadosamente como devias, Delgado-ssi. Entregaste o que o meu governo considera ter sido uma bomba pronta a detonar no nosso território. Se soubéssemos que essa mulher era tão importante para os americanos, teríamos lidado com o assunto de modo diferente. Por conseguinte, tens de nos compensar pelo grave erro que cometeste e pelo embaraço que causaste ao nosso país.
— E se eu recusar?
Pak tirou a pistola, apontou-a à cabeça de Tomaz e premiu o gatilho. Tanto o choque como a detonação atordoaram Ju-long.
— Como te disse, isto é uma lição.
Pak pegou no telefone e estendeu-o a Ju-long.
— E isto é um incentivo para seres bem-sucedido.
Ju-long levou o telefone ao ouvido. Uma voz trémula de medo ecoou imediatamente na linha.
— Ju-long?
Reconhecendo quem era, o seu coração entrou em pânico.
— Natalia!
— Socorro! Não sei quem são estes...
Pak tirou-lhe o telefone, mantendo a pistola apontada ao peito dele.
Precaução acertada, pois Ju-long teve de fazer um grande esforço para se dominar e não torcer o pescoço ao norte-coreano. Sabia que a mulher não ganharia nada com isso.
— Detivemo-la... e suponho que ao teu filho também... algures em Hong Kong. Desde que cooperes connosco, não lhes faremos mal. Mas, ao primeiro sinal de insubordinação, um médico retirará o teu filho da barriga dela e enviamos-to para casa. Manteremos a tua mulher viva, claro.
Ju-long sabia que, se isso acontecesse, a morte do filho, comparada com o que fariam a Natalia, seria uma bênção.
Pak sorriu.
— Estamos combinados?
19
19 DE NOVEMBRO, 13H23, ULAT
MONGÓLIA RURAL
Duncan atravessou um lapso de tempo de séculos numa questão de horas.
Depois de ele e de os outros terem partido de Ulan Bator num Toyota Land Cruiser antigo, passaram por uma pequena cidade mineira do Leste, uma paisagem pós-apocalíptica crivada de poços de carvão e prédios do tempo dos soviéticos cobertos de fuligem — mas depois, uma curva apertada em direção a norte lançou-os num vale coberto de choupos, ulmeiros e salgueiros.
Mais à frente, um rio prateado corria por entre pastos ondulantes das estepes coloridas em tons de âmbar. Pequeninas tendas nómadas brancas — às quais Sanjar chamou gers — pontilhavam as frágeis ondulações como barcos num mar varrido por uma tempestade.
Ao olhar para o acampamento mongol, Duncan chegou à conclusão de que tudo à volta deveria ter mudado pouco desde os tempos de Gengis Khan. Ao saírem do vale, contudo, deparou com provas de que o mundo moderno já se imiscuíra neste antigo modo de vida. Uma parabólica de satélite emergia de um dos iurtes e, ao lado, uma carroça tinha sido atrelada a uma pequena motocicleta chinesa.
Subiram por caminhos serpenteantes rumo às montanhas que se elevavam à sua frente. O cume da mais distante estava coberto de neve. A estrada passou de asfalto a cascalho e, por fim, a terra batida. As tendas tornaram-se menos frequentes, mais autênticas, com carneiros em currais e pequenos cavalos a pastar. Quando o SUV passou, pessoas de baixa estatura e pele curtida pelo sol vestidas com casacos de pele de carneiro e gorros de pelo vieram vê-los.
Ao volante, Duncan saudou-as com um breve aceno de mão, cumprimento que foi retribuído com sincero entusiasmo. Segundo Sanjar, a hospitalidade era uma virtude muito apreciada entre os mongóis.
No assento do passageiro, Monk fazia de copiloto e navegador. Tinha um mapa desdobrado no colo e um GPS portátil na mão.
— Tens de virar na próxima curva à esquerda. A estrada que vamos tomar é a que nos conduzirá à zona para investigar.
A palavra «zona» era francamente generosa. Os parâmetros de busca situavam o local dos destroços num quadrado com cento e sessenta quilómetros de lado. Ainda assim, era melhor do que os oitocentos quilómetros de que se falava ontem.
Duncan contornou a curva à esquerda e avançou aos solavancos em direção às montanhas. O terreno era um desafio à tração às quatro rodas do veículo. Era composto sobretudo de rochas partidas e manchas de pastagens e atravessado por bosques de lariços e pinheiros. As chuvas tinham destruído partes da estrada, o que exigia uma condução cuidadosa.
— Não tenho a certeza de que esta região necessite de proteção especial do governo — disse Duncan. — Penso que a natureza está a fazer um excelente trabalho.
Sentado no banco de trás, que partilhava com Jada, Sanjar inclinou-se para a frente.
— Foi por isso que os nossos antepassados escolheram ser enterrados nestas montanhas. Encontram-se sepulturas por toda a parte nesta região, com frequência em cima umas das outras. Infelizmente, o roubo de túmulos é um verdadeiro problema. Os habitantes saqueiam os sítios antigos e depois os intermediários compram todas as peças que foram roubadas desses túmulos e vendem-nas na China.
Apontou para um cume redondo mais elevado que os outros.
— Ali é Burkhan Khaldun, a nossa montanha mais sagrada. Diz-se que foi lá que nasceu Gengis Khan e a maior parte das pessoas acredita que ele está lá enterrado. Algumas dizem que está sepultado numa grande necrópole por baixo da montanha e que, além do seu corpo e do tesouro, também lá se encontram os seus descendentes, incluindo Kublai Khan, o seu neto mais famoso.
— Quem quer que descubra esse túmulo vai ganhar uma fortuna — comentou Duncan.
— Há séculos que andam à sua procura. O que levou a muita pilhagem e vandalismo. O governo limitou o acesso a esta área, até com meios aéreos, para proteger o ambiente e a nossa herança cultural.
Era essa uma das razões pela qual eles se dirigiam para lá. Mas também havia outro motivo. Imagens via satélite da região não captaram nenhuns vestígios do engenho espacial destruído e, por conseguinte, era pouco provável que uma busca por helicóptero ou avião fosse mais bem-sucedida.
Era até possível que o satélite tivesse ardido completamente ao reentrar na atmosfera. Tudo isto podia muito bem tornar-se uma caça aos gambozinos, mas tinham de tentar.
— Devo avisá-los de que há ainda outra razão para estas restrições — acrescentou Sanjar.
Jada virou-se para ele.
— Que razão? — perguntou.
— Dizem que o próprio Gengis Khan declarou esta região sagrada. E muitos habitantes acreditam que, se o seu túmulo for alguma vez encontrado e aberto, o mundo acabará.
Duncan soltou um gemido.
— Formidável! Se encontrarmos o túmulo dele, o mundo acabará. Se não o encontramos, o mundo está condenado.
— Morto por ter cão, morto por não ter — resmungou Jada.
Duncan apanhou o olhar dela no espelho retrovisor e Jada sorriu-lhe timidamente.
— Foi uma coisa que o diretor Crowe me disse quando eu parti nesta viagem — explicou ela. — Julgo que ele tinha razão.
De nariz ainda enfiado no mapa, Monk remexeu-se.
— Nunca apostem contra o Painter.
14h44
Uma hora mais tarde, Jada dormitava no banco de trás quando Duncan declarou em voz alta: — Fim da estrada, minha gente!
Jada endireitou-se, esfregando os olhos e percebendo que ele não estava a falar metaforicamente. A pista de terra terminava num acampamento de cinco gers. Carneiros à solta debandaram quando o carro se aproximou das tendas.
Mais longe, um grupo de cavalos trotava num vasto curral.
Ao chegarem ao perímetro da zona de busca, Sanjar tinha recomendado este desvio da estrada principal. Não figurava no mapa, mas ele disse que a melhor maneira de localizar o satélite era perguntar aos habitantes.
Conhecem todos os movimentos dos ramos e mudanças da brisa cá em cima, declarara ele. Sabem de certeza se caiu alguma coisa na sua região.
Sanjar saltou do Land Cruiser quando este parou.
— Sigam-me!
Todos saíram para o frio do dia. Jada esticou os membros hirtos para restabelecer a circulação e, logo que se puseram em marcha, Sanjar avançou diretamente para a primeira iurte.
— Conheces esta gente? — perguntou Monk.
— Não pessoalmente. Mas este acampamento está aqui há já algum tempo.
Sanjar abriu a sólida porta de madeira sem bater, mas tinha avisado anteriormente os companheiro que era costume proceder assim — mais um sinal da hospitalidade mongol. A família que lá morava sentir-se-ia insultada se batessem à porta. Era como se duvidassem das suas boas maneiras e generosidade.
Assim, ele entrou como se fosse dono da tenda.
Não tiveram outro remédio senão segui-lo. Jada obedeceu às instruções de Sanjar, tendo o cuidado de não pisar a soleira da porta e de virar à direita como mandava a tradição ao entrar numa tenda circular.
O lugar era surpreendentemente bem aquecido e espaçoso. Uma estrutura de madeira suportava o telhado e gradeamentos emolduravam as janelas. A tenda estava protegida contra o vento e o frio por camadas sobrepostas de peles de carneiro e feltro.
Como se aguardassem a sua vinda, foram saudados por rostos sorridentes.
Era uma família de quatro: um casal e duas crianças com menos de cinco anos.
O marido abotoou formalmente a gola do seu del e fez-lhes sinal para se sentarem em bancos.
Sem dar conta, ela viu-se de repente com uma taça de chá quente nas mãos.
A julgar pelas panelas a ferver na lareira, tinham interrompido o jantar.
Cheirava a caril e a carne de carneiro. Uma tigela e um prato aterraram diante dela, e a mulher encorajou-a, com um largo sorriso e gestos das mãos, a comer.
— É sopa boortz — explicou Sanjar. — Muito boa. E esses pedaços no prato que parecem cacos de cerâmica é queijo aruul. Muito saudável.
Sem querer parecer mal-educada, Jada tentou um pedaço do queijo, mas era duro como cerâmica. Acabou por chupá-lo como se fosse um rebuçado, coisa que os anfitriões pareciam também estar a fazer.
Em Roma...
Sanjar falou com o marido e a mulher num dialeto nativo, envolvendo muitos gestos e algumas correções. Mas o homem pôs-se a apontar vigorosamente a cabeça, para nordeste.
Jada esperava que fosse um sinal positivo.
A conversa continuou durante algum tempo. Tudo o que ela podia fazer era olhar e comer. As crianças, entretanto, estavam fascinadas com a prótese de Monk. Este tinha um rapazinho ao colo e mostrava-lhe como podia tirar a mão do pulso sem que os dedos parassem de mexer.
Jada achou aquilo deveras desconcertante.
Mas as crianças estavam encantadas.
Por fim, Sanjar pegou na tigela e pôs-se a comer a sopa, enquanto explicava aos companheiros o que tinha ficado a saber.
— O nosso anfitrião, Chuluun, diz que ontem um homem que passou por aqui, vindo do Norte, lhe falou de uma bola de fogo que atravessou o céu e caiu num pequeno lago, fazendo a água ferver.
Monk franziu o sobrolho.
— Caso os destroços estejam realmente submersos, não admira que não fosse captado nenhum sinal do satélite.
— Então como vamos fazer? — inquiriu Jada.
Nem sequer tinham pensado em trazer equipamento de mergulho.
— Temos de resolver a questão quando lá chegarmos — respondeu Monk.
— Vamos encontrar o lugar, confirmar a localização e solicitaremos que nos seja enviado o material de que necessitarmos.
Sanjar fez um aviso adicional.
— O caminho até lá é traiçoeiro. Nunca conseguiremos chegar de carro ou camião. Pedi a Chuluun que nos emprestasse quatro cavalos.
Jada sobressaltou-se. Não andava muito bem a cavalo.
Mas não tenho muita escolha.
— E ele aceitou? — indagou Monk.
— Aceitou. Até está disposto a ceder um dos seus primos para nos servir de guia. Com sorte, conseguiremos chegar ao lago antes do pôr do Sol.
Monk levantou-se.
— Então vamos.
Jada seguiu o seu exemplo, inclinando ligeiramente a cabeça para agradecer aos anfitriões. Chuluun conduziu-os ao exterior e dirigiu algumas palavras a um dos filhos, que correu para uma iurte vizinha, provavelmente para ir chamar o primo.
Chuluun apontou para lá dos prados, pontilhados por densas florestas, na direção da próxima montanha, cujas encostas estavam meio cobertas de neve.
Era certamente esse o destino deles e não parecia estar a mais de uns trinta e poucos quilómetros. O estarem tão perto inquietou-os. A responsabilidade pesava sobre os ombros de Jada. O mundo aguardava as suas respostas e uma maneira de impedir a vinda do juízo final.
Como se entendesse o estado de espírito dela, Duncan aproximou-se, respondendo assim à sua pergunta muda.
Tinham de cooperar.
Um alvoroço atraiu-os para um ger ali perto. Uma rapariga de uns dezoito anos saiu de rompante, aconchegando delicadamente a gola do seu casaco de pele de carneiro. Tinha os cabelos pretos soltos até meio das costas, mas rapidamente os entrelaçou numa trança. Depois pegou num arco curvo encostado à tenda e pôs ao ombro um carcás de flechas. Também levava uma espingarda no outro ombro.
Era este o guia?
Aproximou-se deles, calçada com botas mongóis que chegavam aos joelhos.
— Chamo-me Khaidu — disse num inglês com forte sotaque. — Querem ir à montanha da Presa do Lobo. Eu levo-os lá. Está bom tempo para partir.
Parecia ter tanta pressa de partir quanto eles.
Um homem mais velho chamou-a da porta da tenda.
Ela emitiu um som gutural e foi-se embora.
Sanjar explicou.
— Trata-se de um pretendente. Provavelmente um casamento arranjado.
Não admira que ela queira partir.
Foram atrás dela até ao curral.
— Esta viagem acaba de se tornar um pouco mais interessante — sorriu Monk.
— És casado e tens filhos — disse Duncan a brincar, dando-lhe uma cotovelada.
— Dizes isso como se eu estivesse morto — barafustou Monk.
Jada suspirou.
Afinal talvez seja melhor eu partir sozinha.
15h33
Duncan fitou a Presa do Lobo quando partiram a cavalo pelo vale em direção do cume coberto de neve. A montanha assemelhava-se realmente a um dente canino curvo apontado para o céu.
Com o Sol lá no alto, o dia aqueceu rapidamente. Era uma tarde agradável para andar a cavalo e a paisagem acidentada que os rodeava ainda a tornava melhor. Com um troar de cascos, atravessavam a galope prados cobertos de erva ou contornavam florestas de bétulas de tronco branco com arbustos de frutos selvagens na orla.
Jada não partilhava a paixão de Duncan por montar a cavalo. Ele tinha reparado como ela se mostrava hesitante e mantinha-se ao lado dela.
Monk fechava a retaguarda, enquanto a fogosa Khaidu cavalgava com Sanjar. Mas o verdadeiro guia era Heru.
O falcão tinha recuperado das pancadas que recebera na véspera. À solta, a ave subia como uma flecha no límpido céu azul, obedecendo aos assobios de comando do dono.
Sanjar estava claramente a exibir-se diante de Khaidu, que cavalgava perto dele. E parecia estar a dar resultado, pois ela inclinava-se com frequência na sua direção para fazer uma pergunta ou indicar-lhe um pormenor da paisagem.
Entretanto, a atenção de Jada não se concentrava no céu, mas no solo a passar velozmente por baixo dos cascos da sua montada.
Duncan tentou tranquilizá-la quando subiam uma escorregadia encosta de xisto. Deu umas palmadinhas no pescoço malhado do seu animal.
— Confia no teu cavalo! Estes animais sabem o que estão a fazer. São robustos cavalos mongóis, descendentes dos que Gengis Khan montava.
— Por outras palavras, são o modelo do ano passado! — E sorriu-lhe de esguelha, tentando mostrar-se corajosa.
Uns minutos mais tarde, chegaram a um caminho estreito com uma queda a pique num dos lados. Ele postou-se entre ela e o precipício com rochedos afiados em baixo. Não era o momento de entrar em pânico e, para a distrair, pôs-se a falar de trabalho.
— Que julgas que realmente aconteceu com o satélite que caiu? — perguntou-lhe. — E das imagens que filmou?
Ela lançou-lhe um olhar, claramente a pensar no que tinham pela frente, mas com vontade de conversar.
— A energia negra é a essência do espaço e do tempo. Ao atrairmos tanta dessa energia no campo gravitacional da Terra, a curva lisa de espaço-tempo à volta do planeta enruga-se ao longo do trajeto.
— E o tempo falha uma pulsação — concluiu ele. — Também disseste a Painter que, na tua opinião, o Olho de Deus pode ter ficado entrelaçado, no plano quântico, com o cometa.
— É uma possibilidade... caso tenha absorvido suficiente energia negra. Mas obterei mais informações quando chegarmos aos destroços do satélite.
— Então vamos examinar a outra questão.
Ela fitou-o, sem compreender.
— A cruz — explicou Duncan. — Suponhamos que é um bocado do cometa que caiu na Terra quando este apareceu pela última vez. Ou talvez seja um asteroide que passou demasiado perto do cometa nessa altura e absorveu a sua energia, a exemplo do que aconteceu com os tecidos de Gengis Khan, caindo depois na Terra como um meteoro.
Ela assentiu.
— Nem sequer considerei essa segunda opção, mas tens razão. É igualmente possível.
— Não tenho a certeza de que isso interesse. O maior mistério é o seguinte...
como concedeu a cruz a São Tomé a capacidade de predizer a catástrofe?
— Hum. É uma boa pergunta.
— Quer dizer, então, que a desconcertei, doutora Shaw.
— Nem pensar — ripostou ela, provocada pelo tom de desafio da voz dele.
— Há três factos a considerar. Um, a energia negra é a força motriz por trás da mecânica quântica. Uma constante universal.
— Já mencionaste isso antes.
— Dois, há indivíduos que são mais sensíveis à radiação eletromagnética.
Mesmo sem ímanes.
E olhou ostensivamente para as pontas dos dedos de Duncan.
Ele conhecia o conceito de hipersensibilidade eletromagnética. Algumas pessoas adoeciam quando eram expostas durante demasiado tempo a linhas elétricas ou torres de telemóveis, e sentiam dores de cabeça, fadiga, perturbações auditivas e até mesmo perda de memória. Por outro lado, registava-se um efeito positivo sobre outros indivíduos. Acreditava-se que os vedores — gente que andava com varinhas à procura de água, metais enterrados ou pedras preciosas — eram particularmente recetivos às minúsculas flutuações do campo magnético.
— Três — continuou ela —, um consenso generalizado entre neurologistas é que a consciência humana se encontra no campo quântico gerado pela vasta rede neural que é o nosso cérebro.
— Quer dizer, então, que a consciência é um efeito quântico.
Ela sorriu maliciosamente.
— Sempre achei esse último pensamento tranquilizador.
— Porquê?
— Se for verdade, a nossa consciência está então entrelaçada com todos os vários universos múltiplos em virtude da mecânica quântica. Talvez a morte seja apenas uma derrocada desse potencial neste quadro cronológico e a nossa consciência mude para outro onde estamos ainda vivos.
E apressou-se a aprofundar tal suposição.
— Veja-se o cancro, por exemplo. Temos uma célula no corpo que se divide mal, um pequeno erro num processo que se repete vezes sem conta num ser saudável. Se se dividir corretamente, não há cancro. Se cometer um erro, temos cancro. O simples lançamento de um dado genético. Cara ou coroa.
Duncan disfarçou um esgar. As palavras dela eram demasiado dolorosas.
Levou a mão à palmeira tatuada no peito. Pensou no irmão mais novo, só pele e osso, numa cama de hospital, deixando atrás dele o fantasma do seu sorriso malandro. Billy tinha morrido de sarcoma osteogénico e perdera o jogo naquele lançamento do dado genético.
Sem notar a reação dele, Jada prosseguiu.
— Mas que acontece se estamos todos entrelaçados com universos múltiplos? Isso proporciona-nos uma oportunidade única. Num universo, o cancro pode matar-nos, mas na medida em que estamos entrelaçados, a nossa consciência muda para outro universo onde não temos cancro.
— E continuamos a viver?
— Ou, pelo menos, a nossa consciência continua, misturando-se com a outra. Isto pode repetir-se constantemente, mudando cada vez para um quadro cronológico onde vivemos... até vivermos plenamente a nossa vida.
Duncan imaginou o rosto de Billy e encontrou conforto nessa possibilidade.
— E que acontece depois? — perguntou ele. — Que acontece quando todos esses potenciais se desmoronam para um só universo e morremos lá?
— Não faço a menor ideia. É essa a beleza do universo. Há sempre um novo mistério. Talvez tudo isto seja somente um teste, uma grande experiência.
Muitos físicos estão agora convencidos de que o nosso universo não passa de um holograma, uma construção tridimensional com base em equações escritas no interior da esfera que engloba este universo.
— Mas quem escreveu essas equações?
Jada encolheu os ombros.
— Chama-lhe a mão de Deus, um poder mais elevado, uma superinteligência... quem sabe?
— Já não estamos a falar do mesmo assunto — disse ele, voltando a São Tomé e à profecia da catástrofe. — Recapitulemos os teus três pontos... O
cérebro humano funciona de modo quântico, a energia negra é resultado da mecânica quântica e alguns indivíduos são hipersensíveis aos campos eletromagnéticos.
Ela olhou-o como para ver se ele conseguia fazer sentido daquilo tudo.
Duncan estava à altura do desafio e provou-o.
— Julgas que São Tomé era um ser sensível e que, por essa razão, foi particularmente afetado pela energia negra libertada pela cruz, uma energia que deformou o campo quântico no seu cérebro para lhe dar uma visão deste tempo.
— Pode haver uma explicação mais simples...
— Sim?
— Foi um milagre.
Ele suspirou ruidosamente.
— Quer seja ciência ou milagre, ainda acho um raio de uma coincidência que tanto o Olho de Deus como o olho interior de São Tomé tivessem uma visão do mesmo momento!
— E «Deus não joga aos dados com o universo» — comentou Jada, citando Einstein.
Lindo...
— Não creio que fosse uma coincidência — prosseguiu ela. — Lembra-te de que o tempo é apenas mais uma dimensão. Não possui nenhum fluxo inerente para a frente ou para trás.
— Por outras palavras, «a diferença entre o passado, o presente e o futuro apenas uma ilusão teimosamente persistente...» — Duncan ergueu uma sobrancelha na direção dela. — Como vês, também posso citar Einstein.
Ela sorriu, o que a fez parecer ter menos cinco anos.
— Então considera o tempo como um ponto no espaço. Tanto o Olho de Deus como o olho interior de São Tomé caíram nesse mesmo ponto no tempo, provavelmente quando a corona de energia negra do cometa passar a pouca distância da Terra. E então, como quando a agulha de um gramofone resvala no sulco de um disco, ficaram lá presos a tocar obsessivamente o mesmo trecho de música.
— Ou, neste caso, a mostrar a visão do planeta em ruínas.
Ela assentiu.
— Mas que achas que vai acontecer a seguir?
— Como o diretor Crowe disse a respeito da Antártida, julgo que, quando a corona de energia negra atingir o seu máximo, irá curvar o espaço-tempo perto da Terra, como a gravidade faz normalmente.
— Porque «a energia negra e a gravidade são conceitos intimamente entrelaçados» — disse, desta vez citando-a.
— Exatamente. Só que desta vez, em vez de criar uma ruga no espaço-tempo, criará um plano inclinado ao longo do qual rolarão meteoros como berlindes.
— É um pensamento bastante alegre.
— Trata-se apenas de uma teoria.
Porém, ao ver a sua expressão, Duncan podia dizer que Jada acreditava nela.
Depois, ela manteve-se silenciosa demasiado tempo, como se algo a incomodasse.
— Que é? — perguntou ele.
— Não sei. Há uma coisa que ainda não entendo...
Antes de terem tempo para aprofundar o assunto, um grito chamou a sua atenção. Tinham chegado ao fim do perigoso caminho e um vasto planalto estendia-se à sua frente. Mesmo acima deles elevava-se o cume pontiagudo de uma montanha.
— Chegámos à Presa do Lobo! — gritou-lhes Sanjar.
— Estás a ver...? A viagem até aqui não correu muito mal — disse Duncan a Jada. O pior já passou. Daqui em diante é canja.
15h34
— Encontrámo-los! — informou Arslan por telefone.
Batukhan, sentado no seu gabinete no edifício do parlamento, fez um sinal à secretária, uma jovem de vestido justo e blusão, para sair. Apesar de ela se vestir de maneira claramente ocidental e nada tradicional, ele apreciava o corte que lhe moldava as curvas. Alguns costumes ocidentais seriam bem-vindos na nova Mongólia, um império que ele planeava criar com o tesouro de Gengis Khan.
Já previa o que faria quando o túmulo fosse descoberto. Primeiro, selecionaria e retiraria os objetos mais valiosos, aqueles que pudessem ser derretidos ou despojados das joias, vendendo-os às claras. Depois, anunciaria ao mundo a descoberta, transformando a sua fama em poder. Desejava ser o homem mais rico não só da Mongólia, mas de toda a Ásia. Conquistaria o mundo, como o seu ilustre antepassado fizera no passado, criando um império de riqueza e poder.
Mas primeiro teria de resolver alguns problemas.
Depois de a tempestade se ter abatido sobre o Cazaquistão, um membro do bando de Arslan voltara ao mar de Aral para confirmar a morte dos adversários e recuperar o helicóptero abandonado, mas o aparelho tinha desaparecido.
Ninguém sabia se o piloto tinha escapado sozinho ou se mais alguém sobrevivera. Batukhan não temia pessoalmente as repercussões, pois Arslan era o único a conhecer a sua identidade. Mas, à cautela, tinha enviado espiões para a região das estepes entre Ulan Bator e as montanhas Khentii. Queria todas as estradas daquela área vigiadas para o caso de quaisquer sobreviventes tentarem continuar a procurar o túmulo de Gengis Khan nessas montanhas sagradas.
Para dizer a verdade, não esperava apanhar nenhum peixe graúdo na rede.
Os espiões foram instalados sobretudo para guardar as montanhas — onde ele ainda acreditava que Gengis Khan jazesse enterrado — até ao momento em que pudesse examinar as relíquias roubadas e localizar o túmulo.
Infelizmente, o padre Josip tinha morrido antes de Batukhan poder interrogá-lo. Gengis Khan detestava a tortura e o ministro da Justiça considerava que era esse o grande defeito do imperador.
— Que queres que eu faça? — perguntou Arslan.
— A que distância estão eles?
— Têm uma hora de avanço. Mas, até agora, não fizeram nenhum esforço para passar despercebidos.
— Então, mais meia hora não terá importância. Chama os teus homens mais leais, os que melhor sabem manejar a espada e o arco, e forma um grupo de combate a cavalo. Irei ter com vocês para os chefiar.
— Muito bem, Borjigin.
A raiva ressoou fortemente na voz de Arslan.
Excitando a avidez sanguinária de Batukhan. No passado, o clã praticava escaramuças nas estepes usando figurantes e acessórios. O pior que podia acontecer era quando alguém caía do cavalo e partia um braço. Batukhan achava justo que a sua ascendência ao trono do novo império mongol exigisse efusão de sangue.
Mas, ainda mais importante, sempre tivera vontade de espetar uma flecha no peito de alguém e esta era a sua oportunidade.
— Também devo informar-te de que o traidor Sanjar se juntou a eles — acrescentou Arslan.
Ah, compreendo agora o ódio que senti no tom da tua voz.
Batukhan lembrou-se do rosto de Arslan quando este regressou do Cazaquistão. O seu couro cabeludo fora arrancado até ao osso e a face fora rasgada por uma garra. O homem queria vingar-se por ter sido tão cruelmente desfigurado.
Tinha de dar uma lição aos traidores.
O intercomunicador zumbiu.
— Ministro Batukhan, chegaram os dois representantes do consórcio mineiro para o encontro às quatro horas.
— Diga-lhes para esperarem um momento.
Terminou a conversa com Arslan e considerou cancelar o encontro, mas este podia resultar num contrato bastante lucrativo e vir a constituir outra peça para a construção do novo império.
Chamou a secretária.
— Pode mandá-los entrar. E traga-nos chá.
Os representantes eram ocidentais e, por conseguinte, deveriam preferir café, mas ele nunca adquirira gosto por essa bebida e preferia chá tradicional.
Já é altura de os americanos se habituarem aos nossos costumes.
A porta abriu-se e um homem alto com tempestuosos olhos azuis e feições duras entrou. Batukhan captou um certo desafio na sua expressão, sentindo que era um adversário à altura. Atrás dele, surgiu a sua assistente, uma bela euro-asiática num elegante tailleur. Não se sentia normalmente ameaçado pelo sexo feminino, mas, com esta, os pelos eriçaram-se-lhe.
Interessante.
Convidou-os a sentarem-se.
— Em que posso ajudá-los?
20
19 DE NOVEMBRO, 15H50, ULAT
ULAN BATOR, MONGÓLIA
Gray reconhecia um inimigo quando lhe aparecia um pela frente.
Do outro lado da secretária, Batukhan assumiu uma expressão amigável e desfez-se em cortesias. Parecia um tipo agradável e em boa forma para alguém com cinquenta e muitos anos. Mas Gray detetou fendas naquela máscara: um brilho voraz nos olhos, um olhar excessivamente longo e desdenhoso a Seichan e um punho inconscientemente cerrado em cima da secretária.
Ao longo da conversa acerca de direitos sobre minérios, petróleo comprado a termo e restrições governamentais, o homem mostrou-se sempre nervoso. E
Gray apanhou-o a olhar para o relógio demasiadas vezes.
Seichan já tinha instalado um microfone sem fios por baixo do tampo da secretária para escutarem as conversas depois do encontro.
Ao reparar num armário com artefactos mongóis à esquerda da secretária, Gray mudou de posição na cadeira. Continha cerâmica, armas e umas estatuetas funerárias. E também viu um par de lobos de madeira esculpidos.
— Desculpe — interrompeu Gray o ministro a meio de uma frase para o irritar de propósito. Apontou para o armário. — Importa-se que admire essas esculturas mais de perto?
— Faça favor — disse Batukhan, inchando um pouco o peito de orgulho pela sua coleção.
Gray ergueu-se e dirigiu-se ao armário de vidro. Debruçou-se com o nariz a poucos centímetros das pequenas esculturas.
— Vejo lobos por toda a cidade. E muitos lugares têm o nome de Lobo Azul — comentou.
Viu a imagem do ministro refletida no vidro — apertava os cantos dos lábios como se saboreasse um segredo.
Hum...
— Que significa? — perguntou Gray, endireitando-se e encarando o homem.
— Faz parte da mitologia da criação do nosso povo, em que se diz que as tribos mongóis descendem do acasalamento de Gua Maral, uma corça selvagem, com Boerte Chino, um lobo azul. Até mesmo Gengis Khan adotou o nome do clã, Mestre do Lobo Azul.
Reparou na inflexão na voz do outro.
Gray não tinha dúvidas de que o misterioso Borjigin era este homem.
— E porque continua a existir esse fascínio com lobos? — perguntou Seichan, notando claramente a mesma coisa. Remexeu-se e esticou a longa perna, desnudando o tornozelo.
— São um símbolo de sorte, sobretudo para os homens. — Fez um esforço para desviar o olhar da perna de Seichan. — Os lobos também representam um apetite superabundante.
— Como assim? — insistiu Seichan, cruzando as pernas e mantendo-o distraído.
— Um lobo mata mais do que consegue comer. Segundo as nossas lendas, Deus disse ao lobo que, entre mil carneiros, ele podia comer só um. Mas o lobo ouviu-o mal e passou a comer um em cada mil carneiros que matava.
Gray ouviu uma ponta de inveja nessas palavras e talvez também uma ameaça simulada.
Batukhan consultou ostensivamente o relógio.
— Talvez seja melhor apressarmo-nos. Está a ficar tarde e tenho outros assuntos para tratar.
Gray concluiu rapidamente o negócio e despediu-se. Assim que saíram do escritório, enfiou um auscultador no ouvido.
— Achas que ele ficou suficientemente desconfiado com todas as nossa perguntas sobre lobos? — murmurou Seichan ao seu lado.
Gray obteve rapidamente uma resposta. Ouviu pelo auscultador Batukhan dizer à secretária que iria ausentar-se o resto do dia e, a seguir, rosnar ao telefone algumas ordens em tom autoritário.
— Vou sair da cidade — disse ele. — Mantém a mercadoria bem guardada no armazém até eu voltar.
Gray fez sinal a Seichan de que estava tudo a correr lindamente.
Tinha pensado em provocar o homem de tal modo que este os conduziria às relíquias roubadas, mas isto era suficiente. Segundo a relação de Kat sobre os bens do homem, Batukhan só possuía um armazém na cidade.
Na rua, Gray chamou um táxi e atravessaram velozmente a cidade, uma esquisita combinação de ornamentados palácios mongóis, edifícios da época soviética e inofensivos mosteiros budistas. E, por cima de tudo isto, pairava uma nuvem sinistra, cortesia da poluição urbana.
Encostou-se a Seichan sentada ao seu lado e, pegando-lhe na mão, sussurrou-lhe como um amante ao ouvido.
— Estás disposta a andar por uns quantos esgotos?
Ela sorriu.
— Tens imenso jeito para fazer uma rapariga sentir-se tratada de forma muito especial.
16h28
Com o Sol já baixo no horizonte, Seichan manteve-se ao pé de Gray enquanto ele abria a tampa dos esgotos, expondo os túneis que se cruzavam da capital mais fria do mundo. Uma baforada de ar quente soprou das entranhas da terra.
E ouviram então cantar ao longe, como um coro de crianças.
Vindo deste mundo infernal, era desconcertantemente suave.
— Vive gente aqui em baixo — disse Gray.
Para fugir ao frio e procurar outras crianças de rua, Seichan tinha passado um tempo razoável neste género de esconderijos. Com a elevada taxa de desemprego e a luta para fazer a transição do sistema comunista para o democrático, as pessoas esquivavam-se por entre as fendas, incluindo muitas crianças sem-abrigo.
Gray desceu primeiro. A sombra de um conjunto de apartamentos vizinho, a apenas dois quarteirões do objetivo deles, ocultava os seus movimentos. Em Washington, Kat tinha arranjado planos do armazém nos arquivos da cidade e descobriram, assim, que estes túneis conduziam diretamente ao edifício em questão e que, depois, podiam aceder ao armazém pelas condutas de aquecimento.
Seichan desceu a escada, abandonando o dia brilhante e frio, e penetrando nos túneis escuros e quentes. Aquecia a cada degrau que transpunha e rapidamente se tornava insuportável. Isto para não falar do fedor repugnante dos detritos e do lixo.
Gray acendeu a lanterna e aterrou à entrada do túnel.
Seichan seguiu-o, curvada, quase se queimando num cano por cima da sua cabeça. Acendeu também a lanterna e iluminou os túneis que se ramificavam em quatro direções. Avistou, ao fundo de um deles, um pequeno vulto, e depois um rosto assustado.
A seguir, a mais completa escuridão.
Já nem se ouvia cantar.
Os túneis deveriam ser regularmente visitados pela policia e as crianças enviadas para centros de detenção que pouco melhores eram do que as prisões norte-coreanas.
Não admirava que as crianças fugissem.
— Por aqui — disse Gray, dirigindo-se para o armazém.
O percurso não era linear e tiveram de verificar o mapa duas vezes. Por fim, Gray fez-lhe sinal para se baixar.
— A próxima escada deve conduzir ao andar principal do armazém. Não sabemos quantos guardas iremos lá encontrar e o elemento da surpresa só produzirá efeito por pouco tempo.
— Entendido.
Por outras palavras, despacha-te.
Ela ajustou os óculos de visão noturna no alto da cabeça. Gray usava o mesmo equipamento e parecia ter olhos de inseto.
Seichan fez-lhe sinal para avançar. Tinha de avançar de gatas daqui em diante. Quando Gray se afastou, sentiu agarrarem-lhe o tornozelo.
Virou-se de pistola em punho.
Deparou com uma rapariguinha de nove ou dez anos, olhos amendoados e maçãs do rosto salientes. Era como se se visse a si mesma no espelho do passado.
A arma assustou a criança.
Seichan desviou a pistola, libertando a perna dos dedos da rapariga.
— Que queres? — sussurrou em vietnamita, sabendo que era uma língua próxima do mongol.
A criança olhou na direção de Gray, abanou a cabeça e tornou a agarrá-la pela perna das calças como se quisesse puxá-la para trás.
Avisava-a de um perigo qualquer.
As crianças que aqui viviam deram certamente conta de que eles nada tinham que ver com a polícia e depois, ao segui-los, perceberam qual era o seu objetivo. As relações delas com os guardas do armazém não deviam ser lá muito agradáveis e o facto de os prevenirem talvez demonstrasse menos preocupação com o bem-estar de Seichan e Gray do que com o delas próprias. Tinham razão em proceder deste modo.
Muito provavelmente as crianças de rua sofreriam as consequências do que quer que se passasse aqui.
Aquelas que viviam nestes esgotos talvez viessem a ser castigadas e Seichan pouco ou nada poderia fazer por elas. Não podia mudar a dureza e injustiça que reinavam no mundo. Tinham-lhe inculcado isso à pancada no corpo bastantes vezes para ela o saber.
Tenho muita pena, minha pequenina. Foge daqui para o mais longe que puderes.
Tentou comunicar-lhe isso.
— Ði — disse em vietnamita. — Vai.
Com uma expressão de medo, a criança desapareceu na escuridão, uma sombra do que Seichan fora dantes.
Gray chamou-a com um assobio, alheio ao que tinha acontecido. Ela avançou apressadamente para a escada enquanto ele subia os degraus em silêncio, instalando pequenas cargas explosivas no gradeamento.
Ambos se baixaram para os lados quando ele premiu o detonador.
A explosão ecoou. Não foi muito mais ruidosa do que um foguete, mas tinha certamente chamado a atenção dos guardas do armazém.
Gray precipitou-se em frente, seguido por Seichan, e abriu o gradeamento com uma palmada, lançando habilmente para o interior duas granadas de fumo em direções opostas. E Gray e Seichan entraram, rolando no chão do armazém.
Ela já tinha posto os óculos de visão noturna e, deitada de costas no chão de cimento, fez pontaria a todas as luzes que via por entre o fumo.
Disparou rapidamente e apagou-as todas, mergulhando o armazém na mais completa escuridão.
Gray correu para os escritórios, o lugar onde havia mais probabilidades de se encontrarem as relíquias. Se estivessem enganados, obrigariam um dos guardas a dar com a língua nos dentes.
Detonações abafadas marcavam o itinerário de Gray ao longo do armazém.
Seichan permanecia deitada de costas, escondida pelo fumo, a vigiar a saída.
Mudou a visão dos óculos para infravermelhos, captando o calor corporal dos guardas que se moviam no outro lado do armazém. Apontou a pistola.
Bam, bam, bam...
Corpos tombaram no chão.
Outros dispersaram, procurando cobertura e disparando às cegas.
Seichan sabia que o fumo a protegeria apenas uns minutos mais e que depois ficaria exposta.
Não te demores, Gray.
16h48
Avançando pelo fumo, Gray disparava sobre tudo o que os óculos vissem brilhar. Abateu dois homens no piso onde estava e outro nas escadas abertas que conduziam ao escritório. Subia dois degraus de cada vez, mantendo-se baixo.
Uma bala ricocheteou no corrimão da escada.
Virou-se, captando o calor, e disparou.
O atirador caiu.
Ao chegar ao patamar de cima, rebentou a fechadura da porta com um tiro, sem se dar ao trabalho de verificar se estava ou não trancada. A esta altura, o fumo já não o envolvia.
E, como prova do perigo que corria, uma saraivada de balas esburacou a parte da frente do escritório.
Sem se deter, arrombou a porta com o ombro e entrou de roldão. Afastou-se das janelas e tornou a fechar a porta a pontapé, apontando ao mesmo tempo a pistola para o outro lado do pequeno espaço. Uma porta ao fundo dava para a secção administrativa e a sala de conferências.
Verificou a porta, mantendo-se agachado.
Fechada à chave.
Ótimo.
Não queria surpresas de nenhuma direção.
Como não se via a secretária das janelas, ergueu-se ao reparar nas caixas lá empilhadas. A maior estava embrulhada num cobertor. Pela descrição de Vigor, tinha o tamanho certo. Deu uma espreitadela e viu prata manchada no interior.
Esquadrinhou o resto, mas não encontrou as outras relíquias. Abriu as gavetas da secretária e na de baixo deparou com uma máscara de lobo a olhar para ele.
Queria dizer, então, que Borjigin estivera provavelmente aqui a contemplar os seus novos tesouros.
Ao debruçar-se, Gray descobriu um pequeno saco de pano enfiado num armário da secretária. Abriu o fecho de correr e encontrou o crânio e o livro encadernado lá dentro. Aliviado, pôs o saco ao ombro e a caixa debaixo do braço. Era uma carga pesada e desconfortável, mas deixava uma mão livre para segurar a pistola.
Um rápido olhar pela janela e viu que o fumo estava a dissipar-se.
A busca demorara demasiado.
Entreabriu a porta com a ponta do sapato e viu dois homens armados com metralhadoras a correr pelas escadas acima na sua direção. Por trás deles desenrolava-se um renhido tiroteio, pois Seichan mantinha à distância os restantes guardas.
Gray arrancou os óculos de visão noturna e, voltando apressadamente à secretária, abriu a gaveta de baixo. Tirou de lá a máscara de lobo e pô-la no rosto, recuperando a pistola no momento em que a porta foi aberta.
Ao virar-se, entraram dois homens de metralhadoras apontadas. A luz das suas lanternas encandeou Gray, mas a máscara de lobo assustou-os e eles hesitaram.
Gray aproveitou a hesitação e meteu uma bala na cabeça de cada um.
Saltou depois sobre os corpos caídos, detendo-se apenas o tempo suficiente para trocar a pistola por uma das suas armas, e, de máscara ainda no rosto, deslizou pelo corrimão da escada até ao piso principal. Balas ricochetearam à sua volta quando ele aterrou.
Fugiu, agachando-se, mas de repente viu um guarda a correr na sua direção.
Quando, contudo, uma cabeça de lobo lhe surgiu pela frente, o homem arregalou os olhos de terror e Gray disparou sobre ele à queima-roupa.
Só depois percebeu porque o homem tinha ido na sua direção.
Há já um momento que não se ouviam tiros.
O guarda estava a tentar fugir.
Encontrou Seichan onde a tinha deixado. Estava desgrenhada e esbaforida, mas sã e salva. Virou-se e por pouco não lhe deu um tiro.
Removeu a máscara.
— Tens de acabar com os disfarces, Gray — ralhou-lhe ela. — Não te faz nada bem à saúde.
— Não te preocupes. Eu certifico-me de que não estás armada no próximo Dia das Bruxas.
16h52
Seichan ajudou-o a carregar ao longo dos túneis o saco de pano e a caixa embrulhada num cobertor. Mantinha-se alerta, mas tudo levava a crer que os guardas sobreviventes tinham fugido.
Olhando à sua volta, notou que o armazém estava cheio de caixas com tecidos, produtos eletrónicos, peças sobresselentes de automóvel até comida para bebés. Pelos vistos, Batukhan tinha inúmeros negócios, incluindo géneros alimentícios, numa cidade onde muita gente passava fome Seguiu Gray de volta ao calor e ao mau cheiro.
Ele rastejava à frente, transportando a caixa, enquanto ela carregava o saco de pano.
Ao chegarem a um túnel lateral, Seichan avistou um rosto familiar a olhar para ela. Deteve-se e lançou-lhe os óculos de visão noturna. Seriam preciosos para uma rapariguinha a tentar sobreviver nesta escuridão. E ela não era a única criança.
Mais vultos agitaram-se à volta da pequenina, provavelmente centenas de outros miúdos.
Seichan apontou para a escada, para tudo o que haviam deixado no armazém.
—Ði! Hãy! Nó là an toàn! — gritou para todos. — Vão! Fiquem com tudo!
Não há perigo!
Não podendo fazer mais nada, Seichan continuou o seu caminho.
Talvez não conseguisse mudar o mundo, mas podia pelo menos tornar uma pequena parte um pouco melhor.
21
19 DE NOVEMBRO, 17H00, ULAT
MONTANHAS KHENTII, MONGÓLIA
Jada e os outros saíram da escuridão para a luz.
Com menos de uma hora antes de o Sol se pôr, o grupo subia a passo rápido a encosta arborizada da montanha. O cume brilhava com a luz do fim do dia que se refletia na neve e no gelo. Os bosques em baixo — uma mistura de bétulas e pinheiros — cobriam-se de sombras quando a noite envolvia as terras baixas.
Lobos uivavam nessa escuridão, acompanhados por ecos de ganidos, para dar as boas-vindas ao poente. Parecia que a Presa do Lobo não adquirira aquele nome apenas por causa da sua forma, mas também devido aos animais que ali viviam.
Para lá dos bosques estendia-se o prado das terras altas que tinham atravessado antes e que agora parecia estar muito longe.
É difícil acreditar que tenhamos chegado a uma altura destas.
Jada julgou ter percebido um movimento lá em baixo, à beira dos bosques sombrios, mas, ao forçar a vista para ver o que era, não encontrou nada.
Sombras a pregar partidas...
Duncan mantinha a cabeça inclinada à escuta dos lobos: — Eles costumam atacar pessoas?
— Não... A não ser que sejam provocados — respondeu Sanjar. — E raramente grupos tão grandes como o nosso. Mas é o início do inverno e eles estão a ficar esfomeados.
Duncan não apreciou nada aquele comentário.
— Então vamos continuar a andar antes que escureça.
— Para quê? — E Sanjar apontou em frente. — Já cá estamos!
Jada virou-se na sela para contemplar esta última ilha de luz do dia no mar da noite. Tinham chegado a um largo planalto, um gigantesco degrau na encosta da montanha. A neve começava a uns trinta ou quarenta metros mais acima, mas não viu nenhum lago.
— Onde está? — perguntou Duncan.
— Por trás daqueles penhascos caídos, a oeste — explicou Sanjar, trotando naquela direção e arrastando todos com ele.
Contornaram o amontoado de rochas. Havia uma passagem estreita entre eles e a borda de um íngreme declive. Jada olhou para aquele precário caminho.
Parecia uma avalanche que tinha congelado naquele lugar, mas, na realidade, devia estar ali há séculos.
Depois de passar, viram que o planalto era ainda mais largo do outro lado.
Descia em falésias a pique à esquerda e elevava-se numa encosta coberta de neve à direita. A maior parte do espaço que restava era preenchido por um lago azul-escuro que combinava com os céus sombrios e refletia as poucas nuvens. As margens corriam ao longo da beira do gelo, sugerindo que o lago era alimentado por neve derretida, provavelmente enchendo na primavera e derramando-se numa cintilante cascata.
Monk aproximou-se.
— Não há vestígios de ter caído aqui coisa alguma recentemente.
Tinha razão. Parecia pristino, virginal.
Khaidu chegara antes deles às margens do lago. Saltou da sela e levou o cavalo a beber ao lago. O animal enfiou o focinho na água para saciar a sede, mas logo recuou a sacudir a cabeça. E Khaidu teve de o acalmar com mão firme para ele não fugir.
Sanjar desmontou, de testa franzida, e passou as rédeas do seu cavalo à rapariga. Agachou-se na margem e meteu a mão no lago, virando-se depois para ela com uma expressão espantada.
— Está quente...
Jada lembrou-se da história contada pela testemunha ocular que tinha visto uma bola de fogo despenhar-se neste sítio. Dissera que a água do lago tinha começado a ferver. Jada imaginou o metal superaquecido do satélite a esfriar lentamente no fundo. O lago ainda não tivera tempo para voltar a arrefecer por completo.
— Está aqui — declarou Duncan, chegando à mesma conclusão.
— Como podemos ter a certeza? — perguntou Jada.
Monk saltou do cavalo e ajudou-a a desmontar.
— Penso que alguém vai ter de mergulhar no lago para ver o que se passa.
17h12
Duncan estava de boxers à beira do lago. A brisa gelada que soprava do cume da montanha fazia-o tremer de frio. Tendo sido criado a maior parte do tempo no Sul dos Estados Unidos, não apreciava lá muito o clima frio.
A sua família atravessava quase todos os anos uma série de estados: Georgia, Carolina do Norte, Mississippi, Florida... O pai mudava regularmente de trabalho como uma cobra muda de pele, deixando a maior parte das vezes os filhos entregues a si mesmos. E era por isso que ele e os irmãos eram tão chegados. Depois da morte de Billy, e com a mãe há muito fora de cena, Duncan e o pai deram por si sem nada que mantivesse a sua pequena família junta. Sem entraves, foram-se afastando uns dos outros. Separados há anos, ele nem sequer sabia onde vivia o pai.
— Podem despachar-se? — perguntou Duncan, não desejando pensar nessa parte do seu passado.
Jada estava ajoelhada diante de um computador portátil.
— Só preciso de uns segundos para terminar de ajustar a imagem.
Além dos boxers, Duncan também estava equipado com uma câmara à prova de água, rádio e luzes LED. Uma extensão de antena presa a um flutuador transmitiria imagens de vídeo para o computador.
— Consegues ouvir-me? — perguntou ela.
— Alto e bom som — confirmou ele, ajustando o auricular.
Jada sabia mais sobre o satélite do que qualquer outra pessoa. Seguiria o seu itinerário e comunicaria com ele para organizar a sua recuperação.
— Então, estamos todos a postos — disse Jada.
Monk estava do lado de Duncan.
— Não faças nenhuma estupidez — aconselhou-o.
— É tarde de mais para me dizeres isso.
Duncan entrou na água acolhedoramente quente. Deu um mergulho. Depois do vento frio à superfície, a água era um bálsamo. Tinha feito mergulho no Belize, onde o mar era como tomar banho numa banheira. Mas isto aqui estava ainda mais quente.
Começou a nadar à superfície com longas braçadas e batendo os pés com força. Com um lago deste tamanho, demoraria horas a explorá-lo completamente. Decidiu reduzir a busca, brincando ao jogo infantil do quente ou frio.
Ou, neste caso, quente e mais quente.
Se o satélite estivesse ali no fundo, a água mais perto dele estaria mais quente. Assim, enquanto nadava, afastava-se sempre que a água esfriava e explorava as zonas mais quentes, mergulhando mais fundo e iluminando o fundo rochoso. Avistou algumas boas trutas, uma bota perdida e imenso musgo.
Ao chegar a um lugar particularmente quente, aspirou uma grande golfada de ar e mergulhou, batendo as pernas bem alto para ir mais fundo. Ao chegar aos três metros, com os ouvidos a doer por causa da pressão da água, algo cintilou, refletindo a luz da lanterna.
— Vira mais para a esquerda — disse-lhe Jada em tom entusiasmado.
Seguindo as suas ordens, tomou a direção indicada. O feixe luminoso iluminou a água à sua volta e o fundo.
E ali estava, pousado numa cratera de rocha e rodeado por um halo de metal e destroços carbonizados.
O Olho de Deus.
Totalmente em ruínas.
17h34
Jada teve vontade de desatar a chorar.
— Está completamente destruído — murmurou para consigo mesma e para os outros.
Mesmo com má receção, a qual se tornava pior quanto mais fundo Duncan mergulhava, ela estava convencida de que não havia nada que pudesse ser recuperado. O satélite original tinha as dimensões de um carrinho de vendedor ambulante de cachorros-quentes, uma bela síntese de teoria, engenharia e design.
Fitou a imagem trémula no ecrã do computador portátil.
Tudo o que restava era uma pilha de destroços chamuscada do tamanho de um pequeno frigorífico. Após o calor escaldante da reentrada na atmosfera, seguida pela explosão do impacte e estragos provocados pela água, tudo o que tinham era uma massa de ferros carbonizada. Captou alguns pormenores: um sensor de horizonte queimado, uma peça de painel solar derretida no revestimento exterior, um magnetómetro destruído... Qualquer esperança de recuperar elementos eletrónicos ou dados significativos era nula.
Tinha de admitir isso para si mesma — e para Duncan.
Sem fôlego, Duncan voltou à superfície. Explodiu do lago com água a escorrer do corpo e o cabelo colado ao crânio.
Mas já estava a par da verdade.
O seu rosto era uma máscara de derrota.
Jada imaginou que o aspeto dela não seria muito melhor.
Depois de termos chegado tão longe, de termos sobrevivido a tanta coisa...
Abanou a cabeça. O pior de tudo era que os destroços não lhes dariam esperança nem soluções quanto à catástrofe prestes a surgir no horizonte.
Duncan apontou com o polegar para baixo.
— Está a cerca de cinco metros de profundidade. Vou tentar, pelo menos, içá-lo. Talvez tenha de o fazer aos poucos.
Jada percebeu que ele não conseguia ficar quieto. Tinha de fazer qualquer coisa para não se sentir derrotado.
— É melhor eu avisar o comando da Sigma — disse Monk, pegando no telefone via satélite e afastando-se para ter aquela dura conversa em privado.
Sentindo a deceção dos companheiros, Sanjar e Khaidu aproximaram-se da borda da falésia.
No ecrã, Jada viu Duncan mergulhar novamente e alcançar o satélite.
Estendeu com hesitação as mãos para o satélite, talvez temendo que ainda estivesse quente. Ao tocar no revestimento exterior, a imagem no ecrã apagou-se.
Jada levantou a cabeça e olhou para o lago. O flutuador da antena mantinha-se, como era normal, à superfície. Ela deveria estar a receber imagens do fundo do lago.
— Duncan? — chamou pelo rádio. — Estás a ouvir-me? Perdi a ligação...
Após trinta segundos mais de silêncio, e as pequenas vagas do lago provocadas pelo mergulho dele a assentarem, começou a ficar preocupada.
Levantou-se e chamou Monk.
— Passa-se qualquer coisa.
17h38
Assim que as suas mãos tocaram nos destroços, Duncan sentiu um formigueiro familiar nas pontas dos dedos, a sensação de algo a repelir, apesar da pressão a esta profundidade. A água quente ficou fria quando ele reconheceu essa sensação viscosa e sombria da assinatura energética, o mesmo campo eletromagnético que tinha sentido emanar das relíquias.
A dúvida acerca de a antiga cruz estar fisicamente ligada ao cometa tinha agora desaparecido. Deviam claramente partilhar a mesma estranha energia.
Energia negra...
Ele queria voltar para dizer a Jada, mas não sem primeiro recuperar os restos do satélite. Tentou puxá-lo para cima, mas não se mexia. Parecia estar preso ao fundo rochoso. Imaginou o seu invólucro metálico, ainda derretido pelo calor da reentrada, a arrefecer e a fundir-se com a rocha.
Frustrado, passou as mãos pela superfície, reparando num gradiente do campo de energia. Repelia de modo mais forte perto de uma extremidade do que da outra. Explorando com as pontas dos dedos, encontrou uma fenda na superfície de uma placa de aço torcida pela força do impacte.
Talvez consiga abri-la.
Tentou com os dedos, mas não conseguiu. Reconhecendo a futilidade da tentativa e sem fôlego, lançou-se em direção à superfície.
Ao vir à tona de água para aspirar uma grande golfada de ar, viu Monk, em pânico, entrar no lago.
— Que estás a fazer? — gritou-lhe.
Jada estava atrás de Monk, à beira do lago.
— Pensámos que te tinha acontecido alguma coisa. As imagens desapareceram e tu estiveste tanto tempo lá em baixo...
— Está tudo bem — disse ele, nadando até à margem. — Mas preciso de algumas ferramentas!
Ergueu-se ao chegar ao pé dos companheiros, mas o frio obrigou-o a deixar-se ficar dentro de água.
— Passem-me essa pequena alavanca — pediu. — Vou tentar abri-lo e revistar o interior.
Jada passou o pé-de-cabra a Monk, que ainda se encontrava com água pelo joelho.
— Porquê? — perguntou ela. — Nada de importante pode ter sobrevivido.
— Sinto uma forte carga eletromagnética nos destroços.
Jada franziu a testa com ar duvidoso.
— É impossível.
— As minhas pontas dos dedos não mentem. Tenho a certeza de que reconheço a qualidade única deste campo de energia.
Fitou-a com dureza, de sobrancelha levantada.
— Como com as relíquias? — perguntou ela, arregalando os olhos. — O crânio e o livro...?
— A mesma assinatura energética...
Ela deu um passo em frente, pronta a entrar com ele no lago.
— Consegues trazer os destroços para terra?
— Todos não. A maior parte da fuselagem está derretida na rocha. Mas julgo que consigo abri-lo e tirar o que está lá dentro.
— Então faz isso — disse ela.
Ele acenou-lhe com o pé-de-cabra e voltou a mergulhar.
17h42
Com o Sol abaixo do horizonte, mas o céu ainda a brilhar a oeste, Jada agachou-se em frente do computador portátil. Por uma razão qualquer, a imagem tinha reaparecido depois de Duncan vir à superfície. Ela ficou a vê-lo mergulhar novamente em direção aos destroços.
— Estás a ouvir-me, Duncan? — perguntou-lhe pelo rádio, para testar a ligação.
Ele fez-lhe sinal com os polegares de que estava tudo bem.
Conforme mergulhava mais fundo, a imagem no ecrã tornava-se menos nítida.
Seria por causa dos destroços?
Aconselhou-o a ter cuidado.
— Creio que o campo de energia dos destroços está a interferir com a imagem.
Ao pé dela, Monk, ainda de roupa molhada, teve um arrepio.
— Avisa-o para não lhe tocar. O seu corpo, que não está ligado à terra, pode ter servido de condutor e dado cabo do equipamento.
Tinha razão.
— Afasta-te, Duncan, e deixa-me ver o que tu vês. Mostra-me onde sentes que a energia é mais forte e onde queres usar a alavanca. Não queremos estragar nada que mais tarde venha a ser vital.
Ao ouvi-la, ele deslocou-se para um dos lados do satélite e apontou com a ponta do pé-de-cabra.
— Isso aí parece ser o módulo eletrónico principal — avisou-o ela pelo rádio. — E estás a apontar para a porta da radiação térmica. Se conseguires abri-la, posso tentar guiar-te daqui de cima.
Duncan enfiou o pé-de-cabra numa brecha da porta.
— Cuidado...
Ele fincou os pés no solo rochoso, um em cada lado do satélite, e fez força sobre a alavanca. A brecha resistiu uns segundos aos seus esforços, mas depois acabou por dar de si.
Duncan demorou a pôr-se em posição para apontar a câmara na direção do interior.
Jada sentiu-se de novo deprimida. Toda a eletrónica e fibra ótica estava carbonizada, a maior parte derretida em pedaços disformes de plástico e de silicone.
No ecrã, Duncan movia uma mão na parte de dentro do satélite, tendo o cuidado de não tocar em nada. Apontou com o dedo para um objeto quadrado, um bloco de aço com dobradiças visíveis num dos lados. Protegido pelo volume do aparelho, parecia relativamente intacto. Pela insistência dos gestos de Duncan, via-se que ele estava a tentar comunicar qualquer coisa.
— Deve ser ali que a energia é mais forte — disse Monk, olhando por cima do ombro dela e provavelmente lendo os seus pensamentos.
— É a caixa do giroscópio, Duncan. Tenta não a danificar. Deve estar ligada apenas a um único cabo grosso. Se conseguires tirá-lo, deveria soltar-se como um todo.
Ele fez-lhe sinal de que tinha percebido e meteu o pé-de-cabra por baixo de um dos lados do satélite. Precisava de ter ambas as mãos livres.
Assim que os seus dedos tocaram na caixa, a imagem desapareceu novamente,
Jada olhou para Monk — e depois ambos olharam para o lago. Se a teoria de Jada sobre a energia negra era correta, Duncan podia estar a debater-se com os fogos que alimentavam o universo.
Tem cuidado...
17h44
Respirando com dificuldade, Duncan lutava contra o satélite e a sua própria aversão. Teimoso do...
Não estava habituado a praguejar, mas entre a escória derretida que prendia a caixa do giroscópio e o contacto repelente do seu campo de energia, era como se estivesse a tentar abrir um boião de picles com os dedos a agitarem-se em gel eletrificado.
Assim que abriu a parte de trás do satélite, o campo eletromagnético tornou-se mais forte, elevando-se do seu coração de aço como vapor a sair do interior queimado. Tocar na caixa foi como enfiar os dedos em lama. O campo de energia resistiu-lhe ou, pelo menos, o seu sexto sentido magnético registou isso como tal.
Quando os dedos estabeleceram por fim contacto, foi indescritível. Tinha ocasionalmente tocado em fios ligados à corrente no decorrer dos seus estudos de engenharia, mas isto não era a mesma coisa. Era mais como se tocasse numa enguia-elétrica. A energia parecia distintamente viva.
Punha-lhe os cabelos em pé.
Por fim, com uma brutal torção do cabo meio derretido, soltou a caixa do giroscópio, levantando-a depois e nadando para a superfície, ansioso por se ver livre dela.
Ao chegar à tona de água, respirou sofregamente e dirigiu-se para a margem, transportando a caixa como se fosse uma bola de básquete — bola essa que teria muito prazer em passar a outro jogador.
17h47
Jada foi esperar Duncan à beira do lago com um cobertor na mão. Ele chegou a pingar água com as tatuagens que lhe cobriam os ombros e os braços a brilhar na pele arrepiada.
Apagou a lâmpada presa à cabeça e foi envolto pelas sombras. Concentrada no ecrã do computador, ela nem sequer tinha reparado que escurecera. A noite não perdia tempo a cair nestas montanhas.
Duncan aproximou-se de Jada e trocou o cubo de aço pelo cobertor.
— Porque é isto tão importante? — perguntou-lhe a bater os dentes de frio.
— Já te mostro.
Encaminhou-se para a secretária improvisada, basicamente uma pedra plana onde se encontrava o computador, e pousou a caixa do giroscópio.
— Se isto está a irradiar a mesma assinatura energética que as relíquias, é porque deve estar ligado à corona de energia negra do ometa. Se pudesse levá-lo para um laboratório e examiná-lo como deve ser, talvez conseguisse obter algumas respostas decentes.
Lançou um olhar significativo a Duncan.
— Quanto a isso — disse ele —, Kat vai arranjar-nos uma viagem de regresso aos Estados Unidas pela rota mais rápida possível.
Jada falou enquanto ele pegava no telefone via satélite.
— Já estamos bastante longe. Será mais rápido contactar o meu laboratório no Space and Missiles Systems Center em Los Angeles. Tenho tudo de que preciso para fazer uma análise completa lá, além de poder contactar com os engenheiros e técnicos que estão a par da minha investigação. É a minha melhor oportunidade, caso haja soluções para os nossos problemas.
Como se discordasse dela, Monk franziu o sobrolho, mas a razão do seu pesar não era esse. Era o telefone via satélite.
— Não dá sinal...
— Talvez seja por causa da energia desta coisa — pensou ela em voz alta.
Apontou para a caixa do giroscópio. — Tenta mais longe. Se viajarmos de avião, terei de arranjar maneira de isolar isto.
De novo vestido, Duncan agachou-se ao lado dela.
— Passei a mão por cima dos destroços do satélite depois de arrancar esta coisa. Não senti nenhum vestígio de energia. Tudo parecia emanar da caixa do giroscópio.
— Faz sentido.
— Por quê?
— É o coração do Olho de Deus, o seu homónimo.
Ela voltou a concentrar-se na caixa do giroscópio, examinando os lados até encontrar um pequeno fecho. Abriu-o cuidadosamente, revelando o que continha.
Duncan aproximou-se.
No interior encontrava-se uma esfera de quartzo um pouco maior do que uma bola de basebol. Apesar de não se notar, a esfera era praticamente perfeita.
— Trata-se do giroscópio que girava no cerne do satélite — explicou ela. — Usámo-lo para medir a curva do espaço-tempo à volta da Terra durante a nossa experiência.
— Mas porque está carregado de energia?
— Terei de fazer centenas de testes para confirmar, mas tenho uma ideia.
Enquanto girava em órbita a medir a curva do espaço-tempo, monitorizou a ruga que formou. Julgo que o fluxo de energia negra que criou essa ruga escorreu ao longo dessa prega e se derramou no olho do único observador.
— A esfera de cristal.
— Transformando-a num verdadeiro Olho de Deus.
— Mas isso ajuda-nos em quê?
— Se pudéssemos...
Um estranho silvo — seguido pelo baque de um corpo — atraiu a atenção de ambos.
Khaidu tombou de joelhos, de costas para a falésia.
As suas mãos agarradas à barriga.
Uma flecha de aço emergia do ferimento.
22
19 DE NOVEMBRO, 17H55, ULAT
ULAN BATOR, MONGÓLIA
Com o coração a palpitar de cansaço e os olhos congestionados, Vigor andava às voltas em redor da mesa de conferências na suíte do hotel. Há uma hora que hesitava entre o júbilo por Gray ter recuperado as relíquias e a frustração pela sua incapacidade em resolver o mistério de oitocentos anos.
A atenção de toda a gente convergia para o meio da mesa, onde estava pousado o macabro barco à vela feito de ossos e pele curtida.
Vigor passara uma hora de lupa na mão a examinar a relíquia trazida do mar de Aral. Ainda conseguia sentir o cheiro a sal da caixa de prata, amarga lembrança da morte do amigo.
Josip sacrificara tudo na procura deste artefacto.
E com que fim?
Após o exame, que durara uma hora, Vigor não chegara a nenhuma conclusão definitiva. Os ossos das costelas que formavam o casco tinham sido fervidos para ser mais fácil curvá-los e esculpi-los. E ondas elaboradas e uma pletora de peixes, pássaros e até mesmo focas a brincar e aos pulos no mar tinham sido talhados. O estilo das velas, içadas com cabelo humano trançado, era o dos juncos chineses da dinastia Song, a mesma época de Gengis Khan.
Mas que significava tudo isto? Onde os conduzia? Para resolver o assunto, tinha investigado minuciosamente tudo o que pudesse oferecer um indício. Mas acabara sempre num beco sem saída.
Todos os seus companheiros esperavam que ele resolvesse o mistério, mas a verdade é que talvez ultrapassasse as suas capacidades. Desejou pela centésima vez que Josip estivesse ali. Necessitava mais do que nunca do génio louco do amigo.
Sentado ao lado de Seichan, Gray tomou a palavra.
— Na medida em que é um barco chinês, deve querer indicar um local algures na China.
— Não necessariamente. Gengis Khan era grande admirador da ciência e tecnologias das nações que conquistava. Assimilou e incorporou o que encontrava, desde a pólvora chinesa à bússola e ao ábaco. Iria certamente apreciar esta perícia a construir barcos.
— É um barco de pesca... — prosseguiu Gray, apontando para os pormenores esculpidos. — Isto não sugere que o esconderijo se encontra nas costas do Pacífico ou do mar Amarelo?
— Concordo. E essas coordenadas marcam a fronteira mais a leste do império de Gengis Khan.
Ouviu as palavras de Josip ecoarem novamente na sua cabeça.
Creio que Gengis Khan deu instruções ao filho para fazer de todo o mundo conhecido a sua sepultura e espalhar a sua mensagem espiritual de uma ponta à outra do império mongol.
O amigo tinha razão. A cabeça de Gengis Khan fora ritualmente enterrada na Hungria, representando a fronteira mais ocidental do império do filho. A seguir, o barco de osso foi escondido na região do mar de Aral, marcando o extremo ocidental dos territórios conquistados por Gengis Khan. Fazia assim sentido que o local seguinte fosse ao longo dessa fronteira a leste.
Havia só um problema e Vigor anunciou-o em voz alta.
— São cerca de mil e seiscentos quilómetros de linha costeira... Por onde começamos?
Rachel agitou-se do outro lado da mesa.
— Precisamos, se calhar, de um intervalo para clarear a cabeça e recomeçar de novo.
— Não podemos perder tempo — reagiu Vigor, mas lamentou imediatamente ter ripostado daquela maneira, e deu-lhe uma palmadinha no ombro para se desculpar, quando passou por ela no seu incessante vaivém.
Algo continuava a incomodá-lo e ele não conseguia manter-se quieto. Mas, a cada passo, os pontos no abdómen doíam-lhe, tornando mais difícil pensar.
Talvez Rachel tivesse razão e uma pequena folga fosse uma boa ideia.
Gray franziu a testa e tentou esclarecer as coisas.
— Enterraram a cabeça dele na Hungria e creio que o barco, como é feito de costelas e vértebras, representa o seu peito.
— Ou, mais provavelmente, o coração — corrigiu Vigor, sentindo-se ainda mais incomodado ao dizer isto.
— A cabeça e o coração — murmurou Kowalski, deitado num divã perto deles com um braço sobre os olhos. — Quer dizer, então, que o que nos falta encontrar são os pés do gajo.
Vigor encolheu os ombros. Aquilo até soava certo.
Cabeça, coração, pés.
As palavras de Josip repetiam-se.
... espalhar a sua mensagem espiritual de uma ponta à outra do império mongol.
Vigor parou tão de chofre que teve de se agarrar a uma cadeira para não perder o equilíbrio. Percebeu de súbito que não era às palavras de Josip que devia estar atento.
— Meu espertalhão, maluco de um raio... — murmurou. — Tenho sido um idiota.
Não admirava que Josip mostrasse tal tristeza ao morrer. Não era por não poder terminar a viagem — embora, em parte, talvez fosse também isso — mas porque tinha reconhecido no olhar de Vigor a sua falta de compreensão.
— Ele descobriu! — exclamou o monsenhor.
— Que queres dizer? — perguntou Rachel. — Estás a falar do padre Josip?
Vigor levou a mão ao coração, sentindo-o bater. Josip tinha pegado naquela mesma mão e pousara-a no seu próprio peito — não só para dizer adeus, mas para transmitir uma pista, da única maneira que podia, antes de morrer.
— Cabeça, coração, pés... — repetiu, batendo no peito para dar ênfase à segunda palavra. — Temos estado a olhar para isto de forma errada.
Rachel empertigou-se.
— Como assim?
— A cabeça marcou a fronteira do império do filho, representando o futuro do império mongol após a sua morte. O coração encarnou o império durante a vida de Gengis Khan, simbolizando o seu presente. O que temos de procurar a seguir é a marca onde Gengis Khan primeiro assentou os pés e criou a sua própria reputação, o seu passado.
— Cabeça, coração, pés — repetiu Gray. — Futuro, presente e passado.
Vigor assentiu, voltando a sentar-se na sua cadeira diante do computador portátil.
— Gengis Khan não deu instruções ao filho para espalhar geograficamente o seu corpo de uma ponta do império à outra. Queria que ele o espalhasse do passado ao futuro do império.
Rachel estendeu a mão e apertou-lhe o braço.
— Um raciocínio brilhante.
— Vamos com calma. — Deu uma palmadinha no computador. — Na medida em que o Josip me disse praticamente isso antes de morrer, sinto-me um idiota. E ainda temos de descobrir onde continuaremos a busca.
— Hás de descobrir.
E Vigor pôs no ecrã do computador um mapa com as dimensões do império mongol na época de Gengis Khan.
— Podem ver aqui a extensão do império de Gengis Khan — disse. — Vai desde o Pacífico até ao mar Cáspio, mas a zona oval mais escura a norte da Mongólia representa o território original.
Apontou para essa área no ecrã.
Gray olhou por cima do ombro dele.
— Ainda é muito território para cobrir.
— E como podem ver, essa área original não tinha acesso ao mar.
Todos olharam para o barco enquanto Vigor, de nariz colado ao ecrã, procurava mais dados sobre a região.
— Então porque deixar um barco como pista? — perguntou Gray, apontando com a cabeça na direção da relíquia.
Vigor ampliou uma zona do mapa, assinalando uma grande massa de água na fronteira norte dessa área oval.
— Por causa disto aqui — explicou. — O lago Baical.
— Que importância tem esse lago? — Gray fitou o lago em forma de quarto crescente. — Sabe alguma coisa acerca dele?
— Só o que estou a ler agora — disse Vigor, resumindo em voz alta. — É o lago mais antigo e mais profundo do mundo. Contém mais de vinte por cento de toda a água fresca do mundo e fornecia grandes quantidades de peixe ao antigo povo mongol... o que ainda hoje acontece.
Gray observou mais atentamente os motivos gravados no barco.
— Entendo que haja peixe gravado no casco, mas estes bichos a brincar...
— As focas? — cortou-lhe Vigor a palavra com um sorriso triunfante.
Recostou-se e deixou os outros verem no computador a imagem de uma forma negra e lustrosa estendida no alto de um rochedo. — Permitam-me que vos apresente a foca-da-sibéria, a única foca de água doce...
— Deixe-me adivinhar... — interrompeu-o desta vez Gray. — Só existem no lago Baical.
Vigor apresentou um largo sorriso.
O telefone via satélite de Gray tocou.
— É do comando da Sigma — disse ele, lançando um olhar ao ecrã. Ao afastar-se para aceitar a chamada em privado, apontou um dedo ao monsenhor.
— Informe-se de tudo o que possa acerca do lago.
— Já estou a tratar disso.
E Vigor levou os olhos ao céu.
Obrigado, meu amigo.
18h18
— E não tem notícias de Monk? — perguntou Painter ao telefone.
— Nem uma palavra. — Gray tinha-se metido no quarto não só por privacidade, mas também para não perturbar o trabalho de Vigor.
— Há minutos que tento entrar em contacto com ele — disse Painter. — Mas ninguém responde. A última notícia que recebi foi quando ele e a equipa se dirigiam a cavalo para as montanhas.
— Está a anoitecer por estas bandas — sugeriu Gray. — Talvez o Monk esteja ocupado a montar o acampamento.
Painter soltou um suspiro cansado e exasperado.
— Esperava poder consultar a doutora Shaw antes de eles se instalarem para passar a noite.
— Porquê?
— Acabei de receber uma avaliação final do Space and Missiles Center em Los Angeles. Falei-lhe do físico que está a supervisionar as anomalias gravitacionais que Jada notou na trajetória do cometa.
— Certo. Mencionou algo acerca de estarem a mudar.
— A aumentar, para dizer a verdade. Eles confirmaram que essas pequenas mudanças estão a aumentar regularmente em proporção direta com a aproximação do cometa.
— Não receia que o cometa choque connosco, pois não?
Não era impossível. Em 1994, o cometa de Shoemaker-Levy tinha colidido com Júpiter e era provável que um cometa chocasse com Marte no ano seguinte.
— Não — respondeu Painter. — Em contexto astronómico, o cometa passará perto, mas não corremos o risco de ele nos acertar. O que não significa que fiquemos fora de perigo. Passámos o dia a seguir OPT.
— OPT?
— Objetos próximo da Terra. Andamos a supervisionar os asteroides que podem tomar a direção da Terra devido à passagem da energia do cometa pelas nossas bandas. A sua trajetória já abalou o cósmico jogo de bilhar no espaço, o que resultou nestas recentes chuvas de meteoritos.
— Em conjunto com o que aconteceu na Antártida.
— Exatamente. É por isso que quero consultar a doutora Jada. Ela compreende estas anomalias gravitacionais melhor do que ninguém. O
consenso do Centro é que o aumento de fluxo poderá desencadear a maior de todas as chuvas de meteoros quando o cometa chegar ao ponto mais perto da Terra. E a NASA anda a supervisionar alguns dos maiores asteroides que estão a começar a reagir a esses desvios.
Gray ouviu o tom apreensivo na voz do diretor.
— Podemos fazer alguma coisa para pôr cobro a isto?
— O físico do Centro acha que a doutora Jada é a pessoa indicada para responder a tal pergunta. Ele acredita cada vez mais que tem de haver um motivo para uma relação direta entre a sua aproximação da Terra e o aumento destas anomalias. Pensa que deve existir qualquer coisa aqui no planeta que faz reagir a energia do cometa.
— Jada parecia estar convencida da mesma coisa — concedeu Gray, subitamente satisfeito por ter concordado procurar as relíquias roubadas. — Ela acha que essa cruz antiga que tentamos encontrar pode ter sido esculpida de um bocado deste cometa quando ele apareceu da última vez. E que ainda retém parte da energia negra. E também pensa que a cruz e o cometa estão entrelaçados no plano quântico.
— Então precisamos mesmo de encontrar a cruz.
Gray ofereceu notícias prometedoras.
— Por uma vez, talvez tenhamos uma boa pista. O monsenhor está a trabalhar nisso agora mesmo. Mas, por precaução, pode pedir a Kat para arranjar transporte para o nosso grupo?
— Para onde tencionam ir?
— Rússia... Para um lago perto da fronteira do Sul chamado Baical. Fica a cerca de quinhentos quilómetros a norte do sítio onde estamos agora.
— Vamos tratar disso. Uma distância tão curta deverá levar somente umas horas, mas é melhor apressarem-se. Faltam apenas quarenta e oito horas para que os acontecimentos filmados pelo satélite se realizem.
Reconhecendo a urgência, Gray terminou o telefonema e foi ter com os outros. Ao entrar na sala, encontrou todos à volta de Vigor e do computador portátil.
— Que é? — perguntou.
Vigor voltou-se para ele.
— Quanto mais olho para o lago Baical, mais me convenço de que é o lugar certo.
Rachel sorriu, corada de excitação: — Somos até capazes de saber onde procurar nesse lago.
— Onde? — perguntou Gray.
— Há lendas que dizem que a mãe de Gengis Khan nasceu numa ilha do lago.
— Mais outra ilha — murmurou Gray.
Aquilo parecia, pelo menos, correto. As primeiras relíquias tinham sido encontradas perto de Boszorkánysziget, a ilha das Bruxas, na Hungria, e as segundas numa ilha do mar de Aral.
— Chama-se Olkhon — esclareceu Vigor. — Boatos locais dizem que a mãe de Gengis Khan nasceu aí, o que pode muito bem ser verdade.
Gray considerou a informação. Se estamos à procura de onde veio Gengis Khan, só podemos recuar no tempo até ao ventre da mãe dele.
— Outras lendas afirmam que Gengis Khan está realmente enterrado nessa ilha — prosseguiu Vigor. — Mas é melhor não confiarmos excessivamente nos boatos locais. E o mesmo pode ser dito acerca de inúmeros outros lugares em toda a Ásia. Esta história em particular, contudo, menciona que Gengis Khan foi enterrado com uma arma enorme, capaz de destruir o mundo Rachel assentiu.
— Foi provavelmente essa lenda que deu origem à crença mongol de que, se o túmulo de Gengis Khan for alguma vez encontrado e aberto, o mundo acabará.
Gray sentiu a excitação dos companheiros infiltrar-se no seu sangue.
— Os arqueólogos têm encontrado muitas armas e relíquias mongóis nessa ilha — declarou Vigor. — Até existem registos históricos sobre a chegada de guerreiros mongóis à ilha no tempo de Gengis Khan. Mas ignora-se que foram eles lá fazer.
— A ilha também é o centro de uma forma única de xamanismo — disse Rachel. — Os membros da tribo local, os buriates, descendentes dos antigos mongóis, praticam uma religião que combina o budismo e o animismo naturalista, e acreditam que um grande conquistador do universo habita nessa ilha. Os xamãs ainda protegem muitos dos locais sagrados e, conforme dizem, destruí-los traria a desgraça ao mundo.
O que era semelhante à história de Gengis Khan.
— Viajantes de visita à ilha testemunham acessos de energia — interveio Vigor. — É assim que o descrevem.
Rachel fez um sinal de concordância.
— É possível que essas pessoas sejam sensíveis à energia que emana da cruz de São Tomé. Algumas chegaram a afirmar ter visitado uma gruta que conduzia a outros mundos.
Gray lembrou-se da declaração da doutora Jada acerca da energia negra e os universos múltiplos. Pensou também se esses outros mundos poderiam estar relacionados com as visões de São Tomé.
— Então, vamos verificar isso tudo — propôs Gray. — O comando da Sigma já está a tratar do nosso transporte.
— E Monk e os outros? — perguntou Rachel.
Gray franziu a testa. Duvidava que pudessem perder tempo à espera deles. O
regresso do grupo de Monk podia bem demorar meio dia.
— Nós vamos partir — decidiu Gray. — Pô-los-emos ao corrente quando tornarmos a encontrar-nos.
Mas estava preocupado.
Que acontecera à equipa de Monk?
23
19 DE NOVEMBRO, 18H20, ULAT
MONTANHAS KHENTII, MONGÓLIA
Batukhan montou o cavalo, tanto o animal como o cavaleiro com a tradicional armadura de cabedal posta. Ele também usava um capacete de guerra mongol coroado de aço e com uma máscara de autêntica pele de lobo para ocultar as feições.
Era importante manter o anonimato, especialmente neste caso, que envolvia mortes.
A corda do arco ainda vibrava ao seu ouvido, entoando um canto sanguinário. Tinha visto a flecha espetar-se nas costas da mulher à beira da falésia e vira-a cair de joelhos. Sorriu por baixo da máscara, com o coração alvoroçado.
— Excelente pontaria — disse Arslan, montado ao seu lado num garanhão branco. Igualmente vestido de cabedal, também usava um capacete, mas o seu rosto desfigurado estava descoberto. Suturas uniam a sua pele ao longo da face e da fronte. Era uma visão ao mesmo tempo medonha e temível.
— Deixo Sanjar à tua mercê — disse Batukhan.
Com apenas dois alvos visíveis à beira da falésia, tinha escolhido a mulher.
Achava que matar era tão excitante como o sexo, sendo a penetração igualmente satisfatória. Poupara Sanjar porque sabia que Arslan queria ganhar esse prémio, a fim de se vingar.
Agora, já não se encontrava ninguém na falésia. Os seus inimigos estavam certamente aterrorizados e tinham-se escondido. Mas não havia lugar algum para onde fugirem.
Batukhan lançou um olhar à dúzia de cavaleiros espalhada pela sombria encosta arborizada que conduzia à plataforma rochosa. Eram os melhores e mais leais homens do clã.
Doze guerreiros contra três homens e duas mulheres.
Agora, somente uma mulher.
O ideal seria poupar a vida da última mulher para os seus homens poderem festejar no fim da batalha, como Gengis Khan costumava fazer com as suas tropas. Era o direito adquirido quando nasciam e a sua herança, e uma recompensa bem merecida pelo sangue derramado.
Poderiam sempre matá-la depois.
Com uma pressão de calcanhares, conduziu o cavalo a trote até aos seus homens, empertigando-se na sela, pois sabia que o seu porte os impressionava.
Murmurou umas palavras a cada um deles, mostrando respeito e ganhando-o, como qualquer bom comandante a preparar as suas tropas.
Uma vez esta tarefa cumprida, voltou para o lado de Arslan e apontou para o planalto. Rodeados por paredes incrustadas com gelo, as suas presas estavam encurraladas. A única saída era por esta floresta... ou atirarem-se do alto da falésia. Não havia nenhum outro caminho. Ia ser um massacre, com os gritos das vítimas a ecoar nos cumes das montanhas e a chegar possivelmente ao túmulo de Gengis Khan, onde Batukhan imaginava que o grande imperador estivesse a saborear antecipadamente o espetáculo de sangue e horror que iria presenciar.
Batukhan soltou um grito, sabendo que não havia razão para agirem de modo furtivo.
A primeira flecha já anunciara a sua presença.
— Yavyaa! — uivou, um tradicional grito de batalha. — Yavyaa!
18h33
Ao ouvirem o estrépito dos cascos dos cavalos, Duncan e Sanjar agacharam-se por trás de uns penhascos perto do limite da neve.
Jada permanecia do outro lado do deslizamento de pedras junto à margem do lago e, portanto, fora de perigo imediato. Duncan tinha-lhe deixado a pistola e ensinara-a rapidamente a usá-la. Jada ficara de guarda a Khaidu, a qual estava ferida e necessitava urgentemente de cuidados médicos.
Depois, Duncan e Sanjar foram ter com Monk ao outro lado e prepararam-se para a batalha. Sabiam que a flecha tinha sido disparada para lhes meter medo — uma tática habitual dos guerreiros mongóis, explicara Sanjar.
Assim que ouviu o grito de guerra, Sanjar aconselhou os companheiros a despacharem-se.
— Amarra a correia de cabedal pendurada na garra do Heru ao poleiro — pediu a Duncan.
Duncan segurou a faixa húmida e passou a corda pendente por ela, prendendo-a depois com um nó enquanto Sanjar segurava o falcão contra o corpo.
— Podes soltá-lo — disse-lhe finalmente Duncan.
Sanjar tirou o capuz à ave e lançou-a no ar. Duncan desviou-se das asas a bater pesadamente e seguiu no ecrã do computador o voo da ave. As imagens provinham de uma minúscula câmara de vídeo instalada na faixa. Funcionava melhor no ar do que debaixo de água.
O falcão elevou-se em largos círculos por cima do topo das árvores. Duncan tentou contar os cavalos que se aproximavam a galope. Eram pelo menos uma dúzia, equipados, como os cavaleiros, para a batalha. Não avistou mais ninguém.
Transmitiu uma mensagem pelo rádio a Monk, que, tendo abandonado a proteção dos penhascos, se preparava para dar as boas-vindas aos atacantes.
— Não são mais que doze — informou-o Duncan. — Todos a cavalo e armados com arcos, espadas e espingardas de assalto.
Parece que havia um limite no que dizia respeito a tradições antigas.
— Entendido — respondeu Monk.
— Por aqui está tudo a postos.
Duncan esticou o pescoço por cima de um penhasco para ver o parceiro de joelhos ao lado do aluimento de rochas. Tinha instalado umas cargas explosivas por ali e estava rapidamente a aplicar-lhes detonadores sem fios. Os explosivos tinham sido destinados a destruir os restos do satélite no caso de não poderem ser movidos ou recuperados. Não queriam correr o risco de os chineses e os russos se apoderarem de tecnologia avançada superconfidencial.
Mas as coisas tinham mudado.
O plano era esconderem-se aqui e atrair os atacantes para longe do lugar onde Jada e Khaidu se encontravam. Uma vez na estreita passagem entre a falésia e a queda das rochas, rebentariam com as cargas, para dar cabo do máximo número de inimigos, enquanto, ao mesmo tempo, selavam o acesso ao lago. Tudo isto mantendo Jada e Khaidu tão seguras quanto possível.
Duncan, Monk e Sanjar ficariam encarregados de lidar com os adversários deixados deste lado. Não era lá uma grande vantagem, mas também não tinham muita escolha.
E seria necessária uma sincronização perfeita.
Daí estarem todos de olhos no céu.
Enquanto Monk se encaminhava a toda a pressa em direção deles, Duncan mantinha-se atento ao ecrã do computador. Viu que o tipo que chefiava a carga de cavalaria pelos bosques usava o que parecia ser a cabeça de um lobo. Ao que parecia, o Mestre dos Lobos Azuis tinha decidido, desta vez, sujar as mãos.
— Aí vêm eles — silvou Duncan.
Quando o grupo a cavalo chegou ao planalto, os três baixaram-se para não serem vistos.
Observaram os cavalos e os cavaleiros no ecrã a andarem por ali momentaneamente às voltas. Um deles tinha uma espingarda ao ombro e os outros empunhavam arcos. Não encontrando ninguém, o seu chefe apontou em direção do aluimento de rochas e do lago.
— Uragshaa! — ordenou. — Avancem!
Desembainhando uma espada curva, o Mestre dos Lobos Azuis conduziu os seus homens para o lago.
Ótimo, pensou Duncan.
Era possível que os outros fugissem se eles conseguissem matar o chefe.
De olhos fitos no ecrã, Monk tinha o dedo no detonador à espera de que os primeiros homens entrassem a trote no espaço entre as rochas e a borda da falésia.
Agora, ordenou silenciosamente Duncan.
Como se o tivesse ouvido, Monk premiu o detonador.
Não aconteceu nada.
Ou, pelo menos, não muito.
Uma das cargas cintilou na escuridão e estourou como se fosse um foguete.
O estampido sobressaltou um dos cavalos mais próximos, fazendo-o empinar, mas os outros animais afastaram-se simplesmente do aluimento de rochas.
— A cápsula da primeira carga deve ter-se desprendido — rosnou Monk. — É o que acontece quando se trabalha às escuras.
Preparou o detonador para a carga seguinte e premiu o botão. Desta vez, uma forte explosão fez tremer o planalto. Gelo e neve soltaram-se das falésias e caíram sobre eles.
Monk não ficou parado e, em rápida sucessão, rebentou com a terceira e quarta cargas. Os ouvidos de Duncan ficaram a retinir e os cavalos recuaram a relinchar, atirando com os respectivos cavaleiros ao chão.
— Vamos! — ordenou Monk.
E os três saíram do esconderijo aos tiros.
Enquanto disparava, Duncan pedia a Deus que Jada e Khadu estivessem a salvo.
18h39
Do outro lado do lago, Jada viu três cavaleiros surgir por trás dos penhascos.
Um deles usava uma máscara de lobo. Tinha ouvido a ordem de ataque há segundos.
E depois uma série de detonações pusera-lhe os nervos em franja, fazendo-a cobrir o rosto com um braço. Penhascos desmoronaram no meio de fumo e poeira, e outros mais despenharam-se pela encosta abaixo, fechando o acesso ao lago do outro lado. Pedras mais pequenas continuaram a rolar, caindo dentro de água ou saltando por cima da plataforma de granito.
Jada susteve a respiração, esperando que a explosão tivesse dado cabo dos cavaleiros que vira — mas três cavalos em pânico saíram do fumo e apareceram à sua frente.
Aproveitando a ocasião, Jada disparou, premindo o gatilho vezes sem conta.
Era a primeira vez que usava uma arma, e optava pela quantidade em vez da qualidade.
Acertou, contudo, num cavalo, que se empinou. O cavaleiro agarrou-se com todas as forças à sua montada, o que foi um erro. O animal, assustado, virou-se numa pata traseira e resvalou, rolando pela íngreme falésia abaixo com o cavaleiro.
Jada continuou a disparar às cegas.
Outra bala apanhou, por sorte, um segundo homem, acertando-lhe no pescoço quando ele tentava disparar o arco. Caiu da sela, aterrando na água de barriga para baixo e esbracejando debilmente.
O terceiro, incólume, lançou o cavalo a galope na direção dela, empunhando uma espada curva. A máscara de lobo ocultava-lhe o rosto, dando-lhe a aparência de uma impiedosa força da natureza.
Jada apertou novamente o gatilho, mas este não se mexia. Duncan tinha-lhe explicado o que isso significava.
Não havia mais balas.
A espada do cavaleiro cintilou à luz do luar.
Então, uma flecha passou a rasar pela cabeça dela, as penas roçando ainda a sua orelha.
E foi espetar-se no pescoço do cavalo.
O animal tombou, atirando o cavaleiro por cima da sua cabeça, na direção de Jada. Esta recuou de gatas, olhando para o lado e vendo Khaidu tentar inutilmente pôr outra flecha no seu arco. Mas o esforço que há pouco tinha feito esgotara-lhe as forças. Os dedos tremiam, o suor escorria pelo seu rosto abaixo e o arco acabou por lhe cair das mãos.
O cavaleiro ergueu-se. Atrás dele, o cavalo estrebuchava no chão encharcado de sangue. A flecha atingira-o na carótida.
Khaidu fitava o animal com pesar: não fora ele o seu alvo, mas sim o homem que agora empunhava a espada e avançava para as duas mulheres. A outra mão estava pousada no coldre de uma pistola.
— Foge! — gritou Khaidu a Jada.
Jada obedeceu e, levantando-se, correu para o lago e mergulhou.
Uma gargalhada cruel seguiu-a nas profundezas.
Ambos sabiam o que iria acontecer.
Para onde podia ela fugir?
18h43
Duncan correu por entre os corpos de cavalos e homens massacrados. Após a explosão, a sua estimativa era que o inimigo ainda contava com oito homens armados com espadas e espingardas de assalto. E, juntamente com Monk e Sanjar, tinha despachado metade nos primeiros momentos da emboscada.
Agora, o jogo era mais perigoso.
Um dos combatentes tinha desmontado perto da borda do planalto e ocupava uma posição estratégica, disparando ao acaso, mantendo-os à defesa.
Em campo aberto, com poucos sítios onde se abrigarem, teria sido como acertar em peixes dentro de um barril — mas com oito cavalos tombados e respetivos cavaleiros também fora de combate, Duncan e os outros tinha onde se abrigar.
Se ao menos o tipo parasse de se mexer ou de tentar matá-los.
Monk deu um encontrão em Duncan quando se esquivava de uma bala que ricocheteou junto dos dedos dos pés. Ambos se baixaram por trás de um cavalo e Duncan segurou-o pelas rédeas para o animal não fugir.
Sanjar foi ter com eles segundos mais tarde.
— Vai lá apanhar esse atirador, Dunk — ofegou Monk.
Era indiscutível... aquele tipo estava realmente a irritá-lo.
— Sanjar e eu vamos tentar subir pelos pedregulhos acima — disse Monk, apontando.
Há pouco, tinham ouvido tiros vindos do lago. Uns quantos tipos tinham conseguido passar para o outro lado antes de as cargas explodirem. Alguém tinha de ir socorrer Jada e Khaidu.
Duncan percebeu. Para lá chegar, tinha de dar cabo do atirador isolado.
Monk e Sanjar nunca seriam capazes de escalar aquele monte de entulho e passar para o outro lado com o atirador ali posicionado.
— Já percebi... — disse Duncan. — Mas vou ter de levar este cavalo... e o capacete deste tipo.
Tirou o capacete de um corpo estendido ali por perto e enfiou-o na cabeça.
A seguir, meteu um pé no estribo e, a um sinal de Monk, saltou para a sela.
Agarrou nas rédeas e lançou a montada a galope em direção do atirador.
Colou-se ao pescoço do animal, esperando que o atirador só visse o cavalo e o capacete. O homem disparou — mas para o caos atrás de Duncan, possivelmente sobre Monk e Sanjar, que corriam para o monte de entulho.
Duncan orientou-se pelos clarões que, ao sair da arma do atirador, iluminavam a escuridão e instigou o animal a avançar mais depressa para lá, sabendo que só teria uma oportunidade. Os cascos martelavam o granito e suor salpicava o pescoço do cavalo.
E então avistou o atirador.
Surpreendeu a expressão do homem quando este se virou e percebeu a astuciosa manobra demasiado tarde. No último momento, o cavalo tentou recuar, mas Duncan segurou-o firmemente pelas rédeas e forçou o animal — quatrocentos quilos de músculo mongol — a espezinhar o corpo do atirador estendido no solo.
Mas depois o cavalo desceu velozmente a encosta à rédea solta até à orla do bosque e foram precisos vários metros para abrandar e virar o animal, e fazê-lo voltar a subir. E Duncan deslizou então da sela — não para examinar o atirador, que estava obviamente morto, mas para lhe tirar a arma.
Infelizmente, um casco tinha batido na espingarda, quebrando a coronha e entortando o cano. Pegou na arma e espreitou pelo visor noturno para ver os companheiros.
Avistou Monk de pé sobre um vulto caído com a pistola ainda a fumegar, enquanto Sanjar cortava a garganta a outro homem. E então viu alguém aproximar-se a cavalo por trás deles para os atacar.
— monk! — gritou a plenos pulmões.
Os relinchos e o barulho de cascos abafaram o seu aviso.
E limitou-se a assistir enquanto o homem trespassava as costas de Sanjar com a espada, apontando uma espingarda a Monk. Apesar do rosto desfigurado, Duncan reconheceu o atacante.
Arslan.
Apesar de saber que chegaria demasiado tarde, Duncan desatou a correr.
18h47
A vitória tem de ser saboreada.
Batukhan aproximou-se da jovem mongol com o estômago encharcado de sangue. Era pouco mais velha do que uma menina, mas sabia manejar bem o arco e derrubara o seu cavalo com uma única flecha. Mas ele tinha agora a espada encostada entre os seus pequenos seios e espetava-a o suficiente para furar a roupa e a pele, e tocar-lhe no esterno.
A dor crispava as suas feições, mas ela continuava a fitá-lo com frieza.
Corajosa, um osso duro de roer.
Orgulho pelo seu povo percorreu-o. Não é que não tivesse prazer em matá-
la. Lembrou-se da frase de Gengis Khan que gostava de citar: Não basta que eu ganhe... todos os outros têm de perder.
Concederia a esta rapariga uma morte rápida.
Mas a da americana seria lenta.
Tinha a pistola na outra mão apontada em direção ao lago. Perseguiria a mulher indefesa a seu bel-prazer. Não havia nenhum lugar onde ela se pudesse esconder, e estava desarmada.
Sorrindo por trás da máscara, inclinou-se para a frente, pronto a cravar a espada para satisfazer o seu desejo, quando ouviu o barulho de água atrás dele.
Olhou para trás e viu uma figura escura emergir do lago, uma deusa núbia, precipitando-se sobre ele com uma barra de aço numa mão.
18h49
Jada lançou-se contra ele de pé-de-cabra em riste, com a firme intenção de lhe arrancar a cabeça.
Ao mergulhar no lago, lembrou-se de que Duncan tinha abandonado a ferramenta no fundo depois de abrir o satélite. Podia não ter muito jeito com pistolas, mas, tendo passado anos a competir em triatlos, tinha energia e sabia nadar. Aproveitando o luar que iluminava a água límpida, mergulhou várias vezes até conseguir recuperar a barra.
A seguir, e a coberto do reflexo das estrelas na água, voltou para terra e aguardou que o homem se afastasse para saltar do lago e atacá-lo.
Mas, alertado, ele virou-se de súbito e o golpe acertou-lhe no capacete.
Aço contra aço.
A mão e o braço de Jada ficaram dormentes com a pancada e o pé-de-cabra escorregou-lhe por entre os dedos, caindo com um ruído metálico no solo.
No entanto, o golpe amolgou o capacete do homem e este cambaleou, largando a espada, mas infelizmente ainda tinha a pistola na sua posse.
Apontou-a ao peito dela, praguejando na sua língua nativa. A máscara que agora mostrava era de fúria e vingança.
Mas de súbito largou a pistola e, fazendo um esgar, tombou pesadamente de joelhos.
Khaidu surgiu por trás do homem caído, empunhando a espada que ele tinha abandonado e que agora, depois de lhe golpear as pernas desprotegidas, estava toda ensanguentada.
Jada atirou a pistola para o lago com um pontapé e, pegando de novo no pé-
de-cabra, desferiu-lhe um golpe de baixo para cima no queixo que lançou a cabeça dele para trás, seguida pelo resto do corpo.
Batukhan ficou estatelado ao comprido no chão, inconsciente e a sangrar das pernas.
Jada precipitou-se para junto de Khaidu e ajudou-a a levantar-se.
Ainda não se encontravam fora de perigo.
18h52
O pânico abrandava o tempo, e Duncan tinha a impressão de correr por uma substância pegajosa. Caminhava aos tropeções em direção do trespassado Sanjar e de Monk, que se virava devagar de mais, com Arslan prestes a abatê-lo.
O solo por baixo dos pés estava escorregadio do sangue de homens e cavalos.
Corpos assustados empurravam-no.
Nunca chegaria a tempo.
Sanjar caiu de joelhos e lançou um olhar para o alto e chamou.
— HERU!
Ao ouvir tal nome, Arslan estremeceu, baixando-se e levantando a espingarda para se defender da ave.
Uma ave que nem sequer estava ali.
Monk aproveitou aquela reação para se virar, de pistola em punho.
Mas Sanjar conseguiu levantar-se com a adaga na mão e enfiou-a no pescoço de Arslan até ao punho. O falcoeiro tinha usado o fantasma da sua ave para aterrorizar o primo, pois sabia que a reação de Arslan, depois de ter sido tão maltratado por Heru, seria de pânico.
Empurrou o corpo de Arslan em direção ao chão, girando a faca na ferida. O
sangue correu, espesso, da boca e do nariz de Arslan, asfixiando-o. Quando os olhos do homem ficaram vítreos e ele finalmente morreu, Sanjar deu-lhe um encontrão, afastando-o, e tombou de costas, exausto.
Uma poça escura alastrou rapidamente por baixo dele.
Duncan chegou por fim junto dos companheiros e foi ajoelhar-se ao lado de Sanjar. Uma sombra alada esvoaçou então por cima das suas cabeças e um vulto negro lustroso veio pousar no peito do dono. O falcão sacudiu as asas, baixando a cabeça e roçando pelo queixo e face de Sanjar.
Mãos afagaram a ave e dedos soltaram a correia atada às suas garras. Sanjar encostou o falcão aos lábios e sussurrou-lhe umas palavras.
Após a despedida, Sanjar deixou cair novamente a cabeça e, com a sombra de um sorriso nos lábios, contemplou o céu estrelado. Permaneceu assim uns instantes. Depois, as mãos descaíram, soltando o seu companheiro.
Heru bateu as asas e levantou voo, elevando-se bem alto no céu.
Os olhos de Sanjar continuavam abertos, mas também ele já tinha partido.
19h10
O medo fazia-os avançar mais depressa.
Depois de vestir roupa seca, Jada atou apressadamente ao cavalo a mochila que continha a caixa do giroscópio. Fora derramado tanto sangue por causa desta peça que ela recusava que esses sacrifícios tivessem sido em vão.
Pobre Sanjar...
Enquanto se despachava, tinha as costas viradas para toda aquela carnificina no planalto, tentando manter o sangue-frio. Mas não conseguia escapar ao cheiro da morte.
Tinha-se sentido aliviada ao ver, há poucos minutos, Duncan subir lá acima para vir socorrê-las. Chegara atrasado, mas tinha-a ajudado a transportar Khaidu para o outro lado.
Monk estava agora a tratá-la. Utilizava o equipamento de emergência e via-se claramente que tinha preparação médica. Quebrara as extremidades da flecha, mas tinha deixado a parte de madeira que furava o abdómen de Khaidu de lado a lado pois receava extraí-la. Em vez disso, pusera-lhe uma ligadura bem apertada em volta.
— Estão preparados para partir? — perguntou Monk ao terminar de pôr a rapariga em condições de regressar a cavalo à civilização.
Duncan fez sinal que sim e encaminhou-se para o seu cavalo. Tinha estado a vigiar o bosque com o óculo de visão noturna. Outros atacantes talvez ainda se encontrassem nos bosques ou podiam vir reforços a caminho.
No entanto, o único perigo que corriam não era esse.
Uivos de lobos elevaram-se como vapor do fundo do vale, atraídos pelo cheiro do sangue.
Não se atreviam a demorar mais tempo.
Monk passou Khaidu a Duncan, que, montado no cavalo, a sentou ao colo para a transportar mais confortavelmente.
Jada subiu para a sela. Tinha os seus próprios motivos para querer sair dali o mais depressa possível — queria levar a caixa do giroscópio para o seu laboratório nos Estados Unidos com toda a segurança.
E o mais depressa possível.
Não deixaria que nada a detivesse.
Monk ergueu um braço e apontou para baixo.
— Vamos!
19h25
Batukhan recuperou a consciência com o ribombar de um trovão.
Sentou-se, entontecido, à beira do lago envolto em bruma. Ergueu os olhos para o céu sem nuvens.
Não eram trovões...
Quando aos poucos a cabeça clareou, percebeu que se tratava do eco de cascos a afastarem-se.
— Esperem! — murmurou, temendo que os seus homens estivessem a abandoná-lo.
A articulação deste pequeno gemido fez-lhe doer o queixo. Levantou a mão e sentiu que tinha o queixo rachado e a sangrar. A lembrança do que tinha acontecido começou lentamente a desenrolar-se no seu espírito.
Filhas da mãe...
Levantou-se — ou, antes, tentou. Uma dor atroz tolheu-lhe as pernas.
Confuso pela sua falta de cooperação, olhou para os membros encharcados de sangue. As mãos tatearam os joelhos, sentiram os cortes profundos e os tendões retalhados que transformavam as pernas em apêndices moles que recusavam sustentar o seu peso.
Não...
Tinha de avisar os seus homens.
Os idiotas deviam ter pensado que ele estava morto.
Arrastou-se até ao cavalo morto com a ajuda dos braços, cada movimento uma nova tortura. O suor perlava-lhe a fronte e o sangue pingava do queixo.
Parecia que a parte inferior do corpo estava a arder.
Tenho de encontrar o telemóvel.
E depois tudo estaria bem. Poderia repousar até o socorrerem.
Ao levantar a cabeça, avistou vultos do outro lado do lago, no alto de uma derrocada de pedras.
Ainda havia ali alguém.
Levantou um braço — e então ouviu grunhidos.
Mais vultos surgiram aos saltos.
Lobos.
Um terror primitivo percorreu-lhe o corpo.
Não ia acabar assim.
Rolou em direção à borda da falésia. Preferia morrer depressa pela sua própria mão do que ser devorado vivo. As pernas inúteis resistiam aos seus esforços, deixando um rasto de sangue. Os vultos aproximavam-se em silêncio.
Conseguiu chegar à beira do precipício e atirar-se do alto da falésia. Mas algo lhe agarrou o braço, abocanhando o pulso e mordendo a carne até ao osso.
Outro focinho abocanhou a proteção em cabedal do antebraço, detendo a sua queda. Pernas fortes e corações poderosos arrastaram-no do abismo.
Mais dentes procuraram o seu corpo, rolando-o de costas.
Fitou o chefe da matilha debruçado sobre o seu rosto de dentes arreganhados e a rosnar.
Isto não era nenhuma máscara.
Era o verdadeiro rosto de Gengis Khan.
Impiedoso, implacável, indomável.
Sem aviso, despedaçaram-no.
24
19 DE NOVEMBRO, 07H52, EST
WASHINGTON, D.C.
Do outro lado do globo terrestre, Painter, no seu gabinete, olhava para o espaço. Literalmente. O grande LCD montado na parede mostrava um enorme pedregulho contra um fundo de estrelas. Era todo esburacado e cheio de crateras, um velho guerreiro com cicatrizes de guerra.
— O Telescópio de Infravermelhos da NASA, no Havai, enviou-nos esta imagem há uns minutos — explicou Kat atrás dele. — A designação oficial deste asteroide é 99942, mas dá pelo nome de Apophis. Foi rotulado como provocador de sarilhos no passado por ser o primeiro asteroide a ter passado de um na escala aleatória de impacte de Turim para dois.
— A escala de Turim?
— É um método para categorizar o risco de um objeto perto da Terra chocar com o nosso planeta. Um zero indica probabilidade nula. Dez significa um choque certo.
— E o Apophis foi o primeiro asteroide a ser promovido a dois?
— Chegou a subir, por pouco tempo, até quatro, quando se julgou que havia uma probabilidade em sessenta e duas de entrar em colisão com a Terra. O seu fator de risco baixou depois disso... quer dizer, até hoje.
— Quais são as notícias do Space and Missiles Systems Center em Los Angeles?
— Têm andado a seguir as anomalias gravitacionais à volta do cometa, extrapolando como afetará o espaço local e influenciando os maiores objetos perto da Terra no trajeto do cometa. Como o Apophis. Nesta altura, se os efeitos gravitacionais do campo de energia em torno do cometa permanecem estáticos e não mudam, o Apophis continua a representar um robusto cinco, acercando-se do nível de ameaça. Mas se as anomalias continuam a aumentar proporcionalmente à aproximação do cometa, a classificação do asteroide subirá na escala de Turim.
Painter fitou-a.
— Até onde chegará?
— O Centro acredita que alcançará a zona vermelha. Oito, nove ou dez.
— E qual é a diferença entre esses níveis mais elevados?
— A diferença entre um impacte com sobreviventes... um oito... e um planeta destruído.
— Número dez...
Kat assentiu com um movimento de cabeça e apontou para o ecrã.
— O Apophis tem mais de trezentos metros de comprimento e uma massa de quarenta milhões de toneladas. Caso a nossa extrapolação esteja certa, é exatamente isso que vai a caminho da Costa Leste.
— Mas eu julguei que era um grupo de meteoros que cairia na Costa Leste, não um só e enorme.
— O Centro acha que o Apophis explodiu na camada superior da atmosfera e que os seus bocados caíram no litoral. O que o satélite nos mostrou foram as consequências.
Painter leu, como se fosse um mapa, as rugas no rosto de Kat. Havia algo mais que a preocupava.
— E do que foi que ainda não me falou?
— Do tempo que nos resta. — Kat virou-se de frente para ele. — As imagens do satélite são de há cerca de quarenta e seis horas. Mas, como eu disse, mostram as consequências. Com base nos índices de queimaduras, a densidade de fumo e o nível de destruição, um engenheiro do Centro calculou que, provavelmente, o impacte se deu seis ou oito horas mais cedo.
— O que significa, então, que temos ainda menos tempo para evitar o que aí vem.
— Não são apenas seis a oito horas menos...
— Que quer dizer com isso?
— Preveni-o de que, mesmo que pudéssemos de algum modo desligar esse cometa, o Apophis continuaria a pertencer à categoria cinco. O campo energético já mudou bastante a sua trajetória.
— E desligá-lo não mudaria essa nova trajetória...
— Não.
Ao dizer isto, Kat parecia assustada.
— Falei com o físico que supervisiona as anomalias gravitacionais e ele calculou quanto tempo levará o Apophis a alcançar o nível oito da escala de Turim, passando assim para a categoria em que uma colisão planetária é garantida. Uma vez aí chegado, o asteroide chocará com a Terra, quer se desligue o campo de energia ou não.
— E quando chegará a esse ponto irreversível?
— Dentro de dezasseis horas — disse Kat, fitando-o.
Painter encostou-se à secretária, respirando com dificuldade.
Dezasseis horas...
Permitiu-se um momento de horror — e depois reagiu. Tinha um trabalho a cumprir. Encarou Kat com ar determinado e resoluto.
— Precisamos da doutora Jada.
20h14, ULAT
Montanhas Khentii, Mongólia Depois de catorze horas de dura cavalgada, foi com satisfação que Jada desceu da sela ao ouvir Monk anunciar um breve descanso junto de um pequeno grupo de árvores num prado sombrio. Enquanto dava uns passos para desentorpecer as pernas, Monk ajudou Khaidu a deslizar do colo de Duncan, onde tinha estado aninhada durante a descida pela encosta da montanha.
— Dez minutos! — disse Monk, transportando Khaidu até um tronco caído, para verificar o ferimento.
Duncan aproximou-se de Jada.
Ela ajoelhou-se e abriu a mochila, de onde tirou a caixa do giroscópio.
Queria certificar-se de que o instrumento ainda estava intacto, depois de nos últimos tempos ter sido tão maltratado.
A esfera perfeita estava devidamente alojada e refletia a luz das estrelas.
Parecia estar bem, mas as aparências podem enganar.
Lançou um olhar a Duncan e este, ao ver a sua expressão inquieta, passou a mão por cima da caixa.
— Não te preocupes — disse-lhe. — A sua energia continua a ser bastante forte.
Jada soltou um suspiro de alívio.
Monk chamou, endireitando-se, aparentemente satisfeito com o estado de Khaidu.
— Tenho por fim sinal — disse com o telefone via satélite na mão. — Vou tentar contactar o comando da Sigma.
Jada levantou-se.
— Também quero falar com o diretor Crowe!
Necessitava de repor o seu laboratório em ordem para tudo estar pronto assim que aterrassem na Califórnia. Até mesmo duas horas poderiam fazer a diferença entre sucesso e insucesso.
Monk fez-lhe sinal para se aproximar, mas, quase logo a seguir, estendeu a palma da mão.
— Para! Já não há sinal.
Jada baixou os olhos para a caixa do giroscópio, que ainda tinha nas mãos.
— Deve ser por causa do campo de energia do Olho de Deus — gritou na direção de Monk.
— Então deixa-o aí — aconselhou-a.
Jada virou-se, procurando um lugar à sua volta. Não queria abandoná-lo no chão.
Duncan aproximou-se com ar de cão perdido e estendeu as mãos.
— Eu guardo-o — ofereceu-se. — E vou afastar-me porque desconfio que quanto mais isto estiver longe, melhor será a receção.
— Se calhar tens razão.
Duncan pegou na caixa do giroscópio como se fosse uma cobra venenosa.
— Vê lá se descobres o que se passa — disse-lhe, afastando-se em direção do prado.
Jada foi ter com Monk, que já falava com Painter. Comunicava de modo rápido e eficaz com ele, dando conta de tudo o que acontecera. Monk tinha claramente feito este género de relatórios muitas vezes, e descrito carnificinas e eventos sanguinários como factos nítidos e precisos.
Uma vez a conversa terminada, passou o telefone a Jada.
— Parece-me que há uma pessoa ansiosa para falar contigo.
Jada levou o aparelho ao ouvido.
— Diretor Crowe?
— O Monk disse que conseguiram recuperar a caixa do giroscópio do satélite e que, pelos vistos, está carregada com uma energia estranha.
— Creio que é a mesma energia do cometa, mas só saberei ao certo quando chegar ao meu laboratório no Centro.
— O Monk também me informou acerca dos seus planos... Concordo consigo. A Kat vai acelerar o processo para que cheguem à Califórnia o mais rapidamente possível. Desejo, contudo, informá-la do que soubemos durante a sua ausência.
E contou-lhe então tudo o que sucedera. Não eram boas notícias.
— Dezasseis horas!... — repetiu ela, consternada. — Vamos levar pelo menos duas horas só para regressar a Ulan Bator.
— Vou dizer ao Monk que se dirija diretamente para o aeroporto. Estará lá um jacto à vossa espera.
— Alguém pode transmitir também os dados mais recentes do Centro para o meu computador portátil? Quero rever tudo no decorrer da viagem para a Califórnia e vou também precisar de uma linha segura para falar com o pessoal de lá durante o voo.
— Muito bem.
Ela pormenorizou os preparativos finais e devolveu o telefone a Monk para este se encarregar da logística.
Depois afastou-se, com os braços em volta de si, assustada e a tremer de frio.
Olhou para a cauda brilhante do cometa a atravessar o céu noturno.
Dezasseis horas...
Era assustador, um lapso de tempo impossível.
Um sentimento de horror ainda mais profundo percorreu-a, causado pela obsessiva impressão de que havia algo importante que lhe escapava.
20h44
Duncan deteve-se na orla do prado, tentando segurar a caixa do giroscópio nas palmas das mãos sem lhe tocar com as pontas dos dedos. O campo energético, contudo, repelia-o, pulsando muito tenuemente e dando-lhe a sensação de segurar algo com um coração a palpitar.
Teve um arrepio — mas não era de frio.
Pele de galinha cobria-lhe os braços.
Vamos lá, malta, pensou ao ouvir Monk a falar ao telefone, provavelmente a planear a partida.
Estava bastante satisfeito por isso.
E por se ver livre desta coisa.
Pôs-se a andar ao longo da orla do prado para se acalmar. A biqueira da bota bateu numa raiz saída do solo. Tropeçou, sentindo-se estúpido — até acontecer uma coisa bem pior.
A parte de baixo da caixa do giroscópio abriu-se entre as suas palmas das mãos. Jada devia ter-se esquecido de a fechar como devia ser e ele nem sequer pensara em verificar o trinco.
Ficou a ver, em câmara lenta, aquela esfera perfeita de cristal — que continha o fogo do universo — cair pelo fundo da caixa, bater no solo e rolar pela erva do prado.
Correu atrás dela.
Se a perdesse...
Agarrou nela com uma mão, como a apanhar uma bola de basebol antes de esta saltar para fora do campo. O choque de segurar a esfera com as mãos nuas e sem a caixa de proteção fê-lo cair de joelhos. A energia negra queimou-lhe a mão e os seus dedos fecharam-se espasmodicamente à volta da superfície curva.
Já não sabia onde o campo de energia terminava e o cristal começava. Era como se os dedos estivessem a derreter na esfera.
Ainda ajoelhado, ergueu o objeto, disposto a atirá-lo fora — mas uma centelha atraiu a sua atenção. Fitou a esfera e viu a Presa do Lobo através do cristal.
Só que agora o cume da montanha estava destruído, coberto por uma neblina de poeira. A floresta mais abaixo ardia, fumegando intensamente, e as chamas ainda devoravam a vegetação.
Baixou a esfera — e tudo voltou ao normal.
Levantou-a novamente — e o mundo ardia.
Isto não pode ser bom.
Levantou-se e olhou em redor. Para onde quer que virasse o Olho, via-se o apocalipse. Apontando para norte, avistou a provável origem desta destruição: uma distante cratera a fumegar.
— Que estás a fazer? — perguntou Jada, surgindo atrás dele e assustando-o.
Demasiado impressionado para falar, mostrou-lhe a esfera, virando-a para a Presa do Lobo.
De testa enrugada, ela encostou-se ao ombro dele e espreitou pelo cristal.
Manteve-se naquela posição algum tempo, seguramente tão chocada como Duncan.
— E então? — disse por fim, encarando-o.
— Não viste?
— Vi o quê?
— A montanha, a floresta... Tudo destruído.
Ela olhou-o como se ele tivesse enlouquecido.
— Não vi nada disso.
O quê?
Duncan olhou mais uma vez para as ruínas em chamas no fundo da esfera de cristal, uma catástrofe que, aparentemente, só ele via.
Aqui estava a confirmação de que não era somente a Costa Leste que corria perigo. Todo o mundo estava ameaçado.
Ao compreender isto, chegou a uma única conclusão.
Estamos lixados.
QUARTA PARTE
FOGO & GELO
25
20 DE NOVEMBRO, 01H02, IRKST
LAGO BAICAL, RÚSSIA
Gray comprimia-se junto aos outros no cais gelado do ferry. Estava escuro como breu sob um céu sem nuvens e a noite terrivelmente fria em comparação com Ulan Bator a uns quinhentos quilómetros a sul. Vestiam parcas com capuzes orlados de pele e não pareciam muito diferentes do único nativo que também ia partir para a ilha Olkhon a esta hora tardia.
Normalmente, um barco costumava transportar visitantes desta pequena aldeia de Sakhyurta, à beira do lago, até à ilha e atravessava o estreito com uma milha de largura que separava Olkhon do continente. Mas, no inverno, a única maneira de lá chegar era, por muito estranho que parecesse, de autocarro.
Mas não havia nenhuma ponte.
O autocarro atravessava muito simplesmente o gelo, pois no inverno as águas do estreito ficavam sólidas o suficiente para aguentar o peso de veículos. E
Gray até conseguia distinguir o caminho ao longo do gelo coberto de geada.
Rachel examinou o transporte com um olhar cético. Ninguém se mostrava mais confiante. Mesmo Kowalski estava mais mal humorado do que habitualmente.
— Já tive a minha dose de viagens sobre gelo — rosnou o matulão. — Já ouviram falar do Abominável Homem das Neves?
Gray ignorou-o e, depois de arrumarem o equipamento, fez sinal para entrarem no autocarro. Quando todos se sentaram, o motorista fechou a porta e arrancou. Como ainda era o princípio do inverno, Gray teve de limpar o vidro embaciado da janela para, com alguma apreensão, assistir à travessia. Só por volta de janeiro o lago gelaria completamente.
Ao longe, viu ondas agitarem-se à sua superfície. Tinha lido bastante sobre o Baical e sabia que era uma maravilha geológica, o lago mais fundo do planeta, formado no intervalo entre duas placas tectónicas que se separavam lentamente e o alargavam, acabando por vir a transformá-lo num novo oceano.
Quer dizer, se o planeta ainda existisse por essa altura.
Consultou o relógio. Tinha falado com Painter depois de aterrar em Irkutsk, onde foi informado de que dispunham de menos tempo do que pensavam.
Faltavam agora cerca de doze horas. Pensou que Monk, Jada e Duncan deviam estar a partir de Ulan Bator neste momento rumo à Califórnia.
O plano era a doutora Shaw examinar minuciosamente o giroscópio em Los Angeles enquanto ele tentava recuperar a cruz aqui. Talvez ela conseguisse descobrir uma solução sozinha, mas Gray era a segurança deles a toda a prova — supondo que ele encontrasse realmente esse artefacto sagrado.
Mas a falta de tempo limitava tanto um como o outro.
Ela ia perder sete a oito preciosas horas no voo de regresso aos Estados Unidos. E ele não estava em melhor posição.
Só poderia dar início à busca quando o Sol nascesse. Agora estava demasiado escuro para fazer o que quer que fosse. E, pior ainda, nem sequer tinham uma pista concreta por onde começar. A ilha tinha setenta quilómetros de comprimento e vinte de largura. A metade leste era montanhosa e orlada de abetos, sendo a elevação mais alta o monte Zhima. O resto do terreno consistia numa mistura de areia e dunas, estepes cobertas de ervas e bosques.
Seria uma busca quase impossível mesmo durante o dia, sobretudo sem um mapa que mostrasse onde começar.
Assim, Vigor tinha sugerido outro meio.
Porque não perguntar a alguém?
A ilha era povoada por cerca de mil e quinhentos nativos, um povo aborígene chamado buriates, descendentes dos colonizadores mongóis.
Vigor tinha utilizado as suas relações no Vaticano para combinar uma reunião com o xamã supremo, acontecimento assaz raro. Não havia ninguém melhor que o chefe desta estranha religião, uma mistura de budismo e animismo, para conhecer os segredos da ilha. Os buriates eram conhecidos por desconfiar dos estrangeiros, e até as mulheres estavam proibidas de penetrar nos seus lugares mais sagrados.
Mas como conseguir que o homem falasse?
A intenção de Gray era pôr todas as cartas na mesa — ou seja, mostrar ao xamã as relíquias de Gengis Khan que possuíam, esperando que tal iniciativa funcionasse, neste caso particular, como motivação e o levasse a revelar tudo o que soubesse sobre a ilha.
O xamã acabou por aceitar encontrar-se com eles ao nascer do dia, pois exigia que eles se purificassem à luz do sol antes de falar com eles. E nada o persuadiu a mudar de atitude.
Tantas horas perdidas...
Mas tiveram de admitir que estavam extremamente cansados e precisavam de dormir. Além do mais, quando se reunissem com o xamã, Monk e os outros estariam a aterrar na Califórnia, o que dava quatro horas a ambos os lados para encontrar uma solução à ameaça que pairava sobre o mundo.
Kowalski teve um sobressalto quando o autocarro travou e foi bater na berma da estrada. Com o nariz colado à janela, tinha os nós dos dedos brancos por se agarrar com tanta força às costas do assento à sua frente.
— Que é aquilo ao pé daquele buraco no gelo?
Gray avistou uma forma escura, perturbada pela passagem do veículo, a deslizar no gelo e a meter-se dentro de água.
— Acalma-te. É apenas uma foca.
— Isso é o que eles querem que nós pensemos — resmungou Kowalski. — Não podemos confiar no que está escondido por baixo do gelo.
Era evidente que, no passado, ele sofrera um trauma qualquer relacionado com o gelo. Gray não fez nenhuma observação. Estavam, de qualquer modo, a chegar.
Vigo veio sentar-se ao lado dele, apontando para a ilha.
— Olhe para aquele cabo rochoso. Os nativos chamam-lhe Khorin-Irgi, que significa «cabeça de cavalo». Parece-se efetivamente com um cavalo a beber água do lago. Contam-se histórias de guerreiros mongóis que vinham aqui a este lugar porque acreditavam que o cabo tinha esta forma em homenagem a Gengis Khan.
Gray fitou com mais intensidade a silhueta da ilha. Sabia que os mongóis tinham os seus cavalos em alta estima. Lembrou-se de repente que Vigor descrevera o túnel que conduzia ao barco de ossos no mar de Aral. Também tinha a forma de um cavalo.
— Acha que é um bom sítio para começar a busca? — perguntou Gray.
— Duvido — respondeu o monsenhor. — O cabo é um dos lugares com maior atividade na ilha. Se houvesse lá alguma coisa escondida, já alguém a teria encontrado por esta altura. A minha ideia é que muitos locais nesta ilha estão associados aos mitos relacionados com Gengis Khan. Temos apenas de descobrir qual deles contém o seu túmulo.
— Talvez esse xamã possa indicar-nos.
— Se ele sabe alguma coisa, deve então partilhá-la com outro religioso. É pura cortesia profissional... — E Vigor lançou-lhe um sorriso cansado. — Não perca a fé, comandante Pierce. Se a cruz estiver aqui, havemos de encontrá-la.
— Sim... Mas será que a encontramos a tempo?
Vigor deu-lhe uma palmada paternal no joelho e voltou ao seu assento.
Passou um braço à volta da sobrinha, que continuava inquieta com a saúde dele.
Dando um grande solavanco, o autocarro subiu por fim da camada de gelo para rocha sólida. Atravessou a rolar ruidosamente o cais coberto de areia e entrou num estreito caminho que percorria o longo eixo da ilha. A equipa de Gray atravessava metade do seu comprimento para chegar à maior aldeia, Olkhon, onde iria encontrar-se com o xamã num lugar sagrado lá perto.
Após quarenta e cinco minutos de terreno acidentado — a estepe da costa ocidental — o autocarro chegou a Khuzhir, uma aldeia pitoresca com casas de madeira, telhados de colmo e cercas pintadas de cores vivas em volta de pequenos pátios ou currais. A aldeia estava aninhada numa pequena baía a ocidente da ilha e havia apenas duas estalagens onde poderiam alojar-se.
Gray tinha escolhido a mais pequena e, como não era a temporada turística, alugara a totalidade do espaço, que em todo o caso não ultrapassava doze quartos.
O autocarro conduziu-os até à entrada. Tinha dois andares e uma bonita vista da baía. Havia uma cavalariça nas traseiras e veículos todo-o-terreno estacionados a um dos lados, certamente destinados a serem alugados pelos clientes a fim de explorarem a ilha.
Descarregaram a bagagem e entraram. Os proprietários — um casal idoso de russos que fizeram muitos salamaleques e gestos para compensar a insuficiência de inglês — aguardava-os e tinha a lareira acesa na sala comum, espaço pequeno mas confortável, com soalho de madeira, poltronas excessivamente estofadas e uma mesa comprida.
Ao princípio, o calor da lareira era sufocante, mas, depois de se instalarem, Gray não resistiu a aquecer as mãos.
Vigor refastelou-se numa das poltronas.
— Sinto-me lindamente aqui.
— Cama! — foi tudo o que Kowalski disse ao subir as escadas, a esfregar os olhos como um miúdo ensonado.
Gray não discordou da ideia de Kowalski, e provou-o bocejando ruidosamente.
— Desculpem. Penso que deveríamos dormir tanto quanto pudermos.
Temos de nos levantar uma ou duas horas antes de o sol raiar para nos encontrarmos com o xamã.
— Só vocês, os rapazes, têm essa obrigação... — disse Seichan, irritada.
Havia outra concessão que tinham de fazer para acomodar as exigências do xamã. A presença de mulheres era proibida. No que dizia respeito aos lugares sagrados dos buriates, tratava-se claramente de um clube de rapazes.
— A Seichan e eu ficamos então de papo para o ar, enquanto vocês vão andar ao frio — concluiu Rachel.
No entanto, não parecia muito contente. Não queria perder o tio de vista e até se sentava ao lado dele ao pé da lareira.
Por fim, lá se despediram e foram deitar-se.
Ao subir as escadas com a madeira a estalar por baixo dos pés, Gray não conseguiu evitar maus pressentimentos. A luz do cometa brilhava numa janela do patamar de cima, mas ele sentia o perigo muito mais perto, como se alguém lhe pisasse a sepultura.
Ou a sepultura de outra pessoa.
Seichan seguia-o sem fazer estalar um único degrau.
03h03
Rachel acordou em pânico ao ouvir um tiro.
Deu por si esparramada numa poltrona junto do fogo. Outro ruidoso estalido de lenha na lareira acalmou-a. Lembrou-se onde estava e consultou o relógio.
Chocada, remexeu-se na cadeira.
— Que estás ainda a fazer acordado, tio Vigor? Já passa das três da manhã e tens de sair daqui a pouco.
Em frente dela, do outro lado da lareira, o monsenhor tinha um livro de viagens aberto no colo e os óculos encavalitados no nariz refletiam as chamas.
— Dormi no decorrer da viagem de avião até aqui e fiz uma sesta no autocarro. — Afastou a preocupação da sobrinha com um movimento dos dedos. — Duas horas de sono e fico em forma.
Ela sabia que tudo o que ele estava a dizer era mentira. Tinha-o vigiado durante a viagem. Nunca fechara os olhos, nem sequer uma vez. Ela via, neste mesmo instante, o suor que lhe perlava a testa e não era causado pelo fogo na lareira. A palidez do tio confirmava-o.
As insónias de que sofria não se deviam à idade avançada nem ao interesse que o livro que estava a ler inspirava. Eram motivadas pelo sofrimento.
Rachel levantou-se da cadeira e, ajoelhando aos seus pés, abraçou-se às pernas dele.
— Diz-me lá uma coisa — disse, sabendo que não necessitava de mais palavras para explicar o que queria.
Ele soltou um suspiro pesado e os cantos dos olhos estremeceram ligeiramente. Pôs o livro de lado e contemplou as chamas.
— Tenho um cancro no pâncreas — sussurrou, como envergonhado; não por estar doente, mas por o esconder.
— Quanto tempo?
— Foi diagnosticado há três meses.
Ela fitou-o para lhe dar a entender que não era essa a pergunta que fizera.
— Quanto tempo? — repetiu.
— Deram-me mais dois meses, talvez três...
Ouvir a verdade foi simultaneamente um alívio e um tormento. Depois de tanto tempo sem saber, queria a verdade, precisava da verdade, sem ser capaz de dar um nome ao seu anseio. Mas agora que a verdade era conhecida, não conseguia proteger-se com falsas esperanças.
As lágrimas vieram-lhe aos olhos.
Ele estendeu a mão e limpou-as.
— Não quero cá lágrimas. Foi por isso que não contei a ninguém.
— Podias ter-me dito.
— Precisava... — Suspirou novamente. — Precisava de manter isto para mim durante algum tempo.
Abanou a cabeça, desapontado por não conseguir explicar melhor.
Mas Rachel compreendeu e apertou-lhe o joelho. Ele tivera de confrontar a sua própria mortalidade, a sua inevitabilidade, antes de poder partilhar essa verdade com os outros.
Ele deu-lhe a seguir mais pormenores. Como a maior parte dos cancros no pâncreas, a sua doença era silenciosa, assintomática. Quando se sentiu doente — de início não tinha ligado, julgando tratar-se de uma indigestão — já era tarde de mais. O cancro produzira uma metástase abdominal e pulmonar. Optou por um tratamento exclusivamente paliativo, medicamentos para amenizar as dores piores.
— Permite que eu mantenha uma certa vitalidade até quase ao fim — disse Vigor, descortinando um pouco de luz no meio da escuridão Rachel engoliu a angústia que sentia atravessada na garganta, repentinamente satisfeita por não o ter limitado nesta viagem, a qual podia muito provavelmente vir a ser a última.
— Estarei sempre ao teu dispor — prometeu.
— Agradeço-te, mas não te esqueças de viver a tua própria vida. — Apontou para o corpo. — Isto é apenas temporário, uma pequena oferenda que nos conduz, esperemos, a uma maior glória. Mas não a desperdices, não a guardes numa prateleira para uso futuro. Agarra-a com ambas as mãos e vive-a neste instante, todos os dias.
Perdendo a batalha contra a mágoa que sentia, ela pousou a face no colo do tio a soluçar.
Vigor pousou uma mão em cima da sua cabeça e falou docemente.
— Amo-te, Rachel. És minha filha. Sempre significaste isso para mim.
Agradeço a Deus ter partilhado a vida contigo.
Rachel agarrou-se a ele — sem nunca mais querer deixá-lo, mas sabendo que isso aconteceria em breve.
Também te amo.
03h19
Deitada na cama com um braço a cobrir-lhe os olhos, Seichan tentava reter as lágrimas. O seu quarto ficava mesmo por cima da sala e tinha ouvido a conversa entre o tio e a sobrinha. Todos os sussurros lhe chegavam aos ouvidos como amplificados pela acústica da estalagem.
A sua intenção não fora escutar o que diziam, mas as vozes tinham-na acordado.
E reconhecera o amor naquelas poucas palavras do padre.
És minha filha.
A verdade foi-lhe direita ao coração — embora Vigor não fosse pai de Rachel, ambos tinham formado uma família.
Enquanto os ouvia, tinha pensado na mãe, uma estranha de quem estava separada por um abismo de tempo e tragédia. Em vez de tentarem representar os papéis de mãe e filha, não poderiam construir algo novo, recomeçar como duas mulheres que partilhavam um sonho perdido? Poderiam reanimar as brasas?
Seichan sentiu uma centelha de esperança, de possibilidade.
Levantou-se, sabendo que não conseguiria tornar a adormecer.
Pensava no conselho do monsenhor.
... não desperdices essa oferenda, não a guardes numa prateleira para uso futuro. Agarra-a com ambas as mãos e vive-a neste instante...
Vestiu uma blusa larga sobre o corpo nu e, descalça, saiu silenciosamente do quarto e percorreu o corredor frio. Deparou com a porta dele entreaberta e introduziu-se no calor da escuridão.
Alguns tições reluziam na pequena lareira do quarto.
Aproximou-se da cama, estreita como a dela, com duas almofadas de penas e coberta por um edredão espesso. Puxou a ponta de um lençol e deitou-se, encostando-se ao seu corpo nu e só então o acordando.
Ele reagiu de imediato, agarrando-lhe o antebraço com dedos de ferro.
Tornou-se mais meigo ao reconhecê-la, mas não a largou. Os olhos dele refletiam o clarão da lareira.
— Sei...
Ela calou-o com um dedo nos lábios. Estava farta de falar, de tentar exprimir em palavras o que sentia e o que ele sentia.
— Que horas...?
Seichan substituiu o dedo pelos lábios, sem responder à pergunta.
Estava a viver.
26
20 DE NOVEMBRO, 04H04, JST
SOBREVOANDO O PACÍFICO
A cabeça de Jada foi lançada para trás quando o jato entrou num poço de ar.
Há pouco, tinha o queixo pousado no peito e o computador portátil aberto diante ela. Adormecera enquanto esperava pelos dados.
— Empurra o assento para trás e tenta dormir um pouco — recomendou-lhe Duncan ao lado dela. — Como o Monk está a fazer.
E apontou com o polegar para o terceiro passageiro da cabina do jacto que ressonava, em competição com o motor.
— Não estava a dormir — barafustou ela, tapando um bocejo com um punho. — Estava apenas a pensar.
— Ah, sim? — Duncan levantou o braço para mostrar uma das mãos de Jada agarrada à dele. — Posso então perguntar-te no que estavas a pensar?
Ela tirou logo a mão, afogueada.
— Desculpa.
Duncan sorriu.
— Eu cá não me importei nada.
Embaraçada, olhou pela janela e viu nuvens e água por baixo delas. Segundo o relógio do computador portátil, há pouco menos de três horas que voavam.
— Acabámos de passar pelo Japão — anunciou Duncan. — Umas cinco horas mais e aterramos nos Estados Unidos.
Ao lançar um olhar em redor da cabina, Jada lembrou-se de outro jato de luxo. Ela começara esta aventura em Los Angeles, voara até Washington, D.C., depois para o Cazaquistão e a Mongólia, e agora estava a regressar ao lugar onde tudo começara.
Uma volta inteira ao globo terrestre.
Tudo para tentar salvá-lo.
Esperava que não fosse uma despedida. Se o que Duncan vira através do giroscópio era autêntico, todo o planeta corria perigo.
Os seus olhos pousaram na caixa em cima da mesa. Antes de partir de Ulan Bator, ela tinha selado o Olho de Deus numa improvisada gaiola de Faraday, uma caixa com fios de cobre à volta para isolar a radiação eletromagnética do seu conteúdo e impedir que interferisse com a eletrónica do jato. Depois de passar as mãos por cima da caixa, Duncan confirmou que esta retinha o pior da radiação, mas que, em relação ao superior efeito quântico do Olho de Deus, não serviria de nada.
— Porque sou eu a única pessoa que viu a destruição planetária através do giroscópio? — perguntou-lhe Duncan de chofre.
Ela encolheu os ombros.
— Deves ser sensível ao efeito quântico do Olho de Deus. O que me leva a acreditar que, o que quer que tenha acontecido ao Olho de Deus, também afetou a lente da câmara do satélite e permitiu ao seu sensor digital de imagem registar o futuro próximo quando a luz passou pela lente defeituosa.
— Mas e eu?
— Como já expliquei, por um motivo que desconheço és suscetível às mudanças quânticas no Olho de Deus. Ou porque os ímanes nas pontas dos dedos te tornaram assim... ou então porque és extrassensível.
— Como São Tomé com a cruz...
— Possivelmente, mas não vou andar por aí a chamar-te São Duncan.
— Tens a certeza? Eu até acho que soa bem.
O computador portável emitiu um ligeiro som quando uma nova pasta surgiu no ecrã. Era a mais recente atualização de dados do Space and Missiles Center, enviada por satélite.
Finalmente...
— De volta ao trabalho? — perguntou ele.
— Há uma coisa que quero verificar.
Jada abriu a pasta e pôs-se a ler os documentos que continha. O seu plano era fazer um gráfico do itinerário do cometa, seguindo a sua corona de energia negra. Algo continuava a obcecá-la e ela esperava que mais informação acabasse por revelar o que a importunava.
Começou a reunir os dados pertinentes e a incluí-los num programa de gráficos. Também queria comparar as últimas estatísticas e as suas equações originais que explicavam a natureza da energia negra. Estas equações coincidiam na perfeição com a sua teoria sobre a origem da energia negra — o colapso das partículas virtuais na espuma quântica do universo — e as forças gravitacionais que criava. Sabia que isso era o ponto essencial do problema em questão e podia resumi-lo numa palavra.
Atração.
As partículas virtuais eram atraídas umas pelas outras e a energia resultante dessa aniquilação era o que dava à massa a força fundamental da gravidade. Era o combustível das forças nucleares fracas e fortes que juntava eletrões, protões e neutrões para formar átomos. E era o que fazia com que as luas rodassem à volta dos planetas, o sistema solar girasse e as galáxias rodopiassem.
Enquanto trabalhava, começou a reparar em erros nas equações do Centro, suposições que o físico do laboratório tinha feito e que estes últimos dados não confirmavam. Pôs-se a trabalhar mais depressa, libertando-se do sono... E com horror crescente, a verdade começou a materializar-se diante de si.
Devo estar enganada... Tem de ser.
Os dedos começaram furiosamente a bater nas teclas para tornar a verificar.
— Que se passa? — inquiriu Duncan.
Queria explicar, partilhar isto com ele, mas receava que, ao fazê-lo, o tornasse ainda mais real.
— Jada...?
Por fim, ela respondeu.
— O físico do Centro, aquele que fez os cálculos iniciais para determinar quando atravessaríamos o ponto de não retorno... cometeu um erro.
— Tens a certeza? — Duncan olhou para o relógio. — Ele disse que tínhamos dezasseis horas. Resta-nos portanto nove horas.
— Ele enganou-se. Baseava as suas extrapolações no facto de as anomalias gravitacionais do cometa estarem a aumentar proporcionalmente à sua aproximação da Terra.
— Enganou-se quanto a isso?
— Não, essa parte está certa. — Carregou numa tecla para mostrar o gráfico que tinha estado a fazer. — Podes ver aqui a corona de energia negra do cometa a ser puxada em direção à Terra quando este se aproxima.
— Do mesmo modo — prosseguiu Jada. — A curva do espaço-tempo em volta da Terra reage ao seu efeito gravitacional. A curvatura dobra-se para fora, criando lentamente esse funil pelo qual os asteroides hão de passar.
— Se o físico está certo, qual é o problema?
— Cometeu um erro e creio que os novos dados o confirmam.
— Que erro?
— Supôs que o efeito gravitacional aumentava em progressão geométrica, crescendo a velocidade progressiva. Mas eu acho que não. Está a aumentar exponencialmente. — Virou-se para ele. — Por outras palavras, muito mais rápido.
— Quanto?
— Quero comparar os dados com as minhas equações para ter a certeza, mas nesta altura diria que só faltam cinco horas... e não nove... para uma colisão com um asteroide ser inevitável.
— É quase metade do tempo que nos resta. — Duncan afundou-se no assento, compreendendo de imediato o problema. — Teremos muita sorte se aterrarmos em Los Angeles nessa altura.
— Tomando em consideração os nossos últimos dias, eu cá não contaria com a sorte.
04h14
Que raio...
Duncan ficou siderado.
Jada aconselhou-o a permanecer calmo até ela confirmar os cálculos.
Transferiu os dados para um programa de análise que tinha concebido, baseando-se nas suas equações.
Enquanto esperava, Duncan esfregou as têmporas com os dedos.
— Com tanto sítio à escolha, porque foi o raio do satélite cair no meio da Mongólia? Porque não no Iowa? Estamos a perder horas preciosas para regressar aos Estados Unidos.
Os dedos de Jada detiveram-se sobre o teclado.
— Que foi? — perguntou ele.
— Isto... Era isto que estava a apoquentar-me. Sou tão palerma... — Fechou os olhos. — Sempre teve que ver com atração.
— Que estás para aí a dizer?
Ela apontou novamente para o gráfico, mostrando a corona de energia do cometa a ser puxada em direção à Terra.
— A teoria do físico do Centro era que havia qualquer coisa no planeta a que a energia do cometa estava a reagir. E eu concordo.
— Disseste que podia ser a cruz — lembrou-lhe Duncan. — Por ser feita de um bocado do cometa quando este apareceu pela última vez.
— Exatamente. Os dois... o cometa e a cruz... estão quanticamente entrelaçados e atraem-se um ao outro, pelo menos quanto a energia. Tinha esperança de que, se a cruz fosse encontrada e eu pudesse estudar a sua energia... ou até mesmo a energia do Olho de Deus... talvez descobrisse uma forma de quebrar esse entrelaçamento.
Ele anuiu. Teoricamente, fazia sentido.
— E, se isso acontecesse, a energia do cometa deixaria de ser atraída pela Terra... e, por sua vez, o espaço-tempo em torno do planeta não sofreria distorção alguma. — E o funil nunca se formaria e desencadearia um impacte maciço de asteroides.
Brilhante, doutora Shaw.
— Duas perguntas — insistiu Duncan. — Como podes ter a certeza dessa atração entre o cometa e a cruz? E o que podes fazer para os separar?
— A resposta é a mesma para ambas as perguntas. Cito novamente Einstein: «Deus não joga aos dados com o universo.»
Jada entendeu a sua expressão espantada.
— Há pouco — disse ela — perguntaste-me por que razão o satélite caiu na Mongólia... Foi a melhor pergunta que alguém podia fazer.
— Obrigado... — agradeceu Duncan com hesitação.
— Mas, para te responder, faço-te outra pergunta. Onde julgas que a cruz está agora escondida?
— Numa ilha no lago Baical, a cerca de quinhentos quilómetros a norte de...
— Percebendo de repente, arregalou os olhos. — Do ponto de vista global, praticamente nas traseiras do sítio onde o satélite caiu.
— E não achas isso uma enorme coincidência?
Ele fez que sim com a cabeça.
Deus não joga aos dados com o universo.
Ele fitou-a, com vontade de beijá-la — mais do que normalmente sentia.
— O satélite caiu lá por perto porque foi atraído pela energia da cruz — disse ele.
— Como podia não cair? Está carregado com a mesma energia negra do cometa.
Duncan lançou outro olhar ao gráfico que mostrava um nimbo de energia a ser sorvido para a Terra. Viu o satélite como uma peça imaterial dessa energia, imaginando-a a ser puxada fora de órbita pelo poder de atração da cruz e arrastada para o nosso planeta.
Se assim fosse, isso apoiaria definitivamente a teoria de entrelaçamento de Jada, mas não respondia à sua outra pergunta.
Tornou a virar-se para ela.
— Disseste que tal facto também responderia à questão de como quebrar essa ligação.
Ela sorriu.
— Julguei que era óbvio.
— Para mim, não.
— Temos de terminar o que o satélite começou, unir a energia do Olho de Deus com a da cruz. Pensa neles como duas partículas, uma de carga positiva e a outra de carga negativa. Embora as suas cargas opostas se atraiam...
— ... uma vez unidas, neutralizam-se mutuamente.
— Exato. É energia equivalente a matéria e antimatéria juntas. O
aniquilamento explosivo das duas forças opostas deveria quebrar essa união.
A teoria era lindamente articulada, mas...
— Por que razão são opostos ? — indagou Duncan. — Que diferença existe entre eles?
— Lembra-te de que o tempo também é uma dimensão. Apesar de tanto a cruz como o Olho de Deus estarem carregados com o mesmo quantum de energia negra, possuem duas propriedades distintas e diferentes de tempo.
Extremidades opostas do mesmo eixo. Uma do passado e a outra do presente. O
entrelaçamento quântico significa que ambas querem ser uma só.
— E que, portanto, têm de se destruir.
Ela assentiu.
— Acredito que isso há de quebrar a ligação e desativar a atração sobre as energias do cometa.
— Isso, contudo, leva-nos à pergunta principal — interveio Duncan. — Onde está a cruz?
— Não sei, mas...
Foi interrompida pelo computador, que emitiu outro som para anunciar que completara o programa. Um número cintilou num indicador:
5h68
— Mas aquilo ali é o tempo que temos para a encontrar — disse Jada, apontando para as horas e virando-se para ele. — Sabes o que temos de fazer...
Duncan sabia.
Levantou-se e, aproximando-se de Monk, acordou-o.
— Que é...? — resmungou ele, ensonado. — Já chegámos?
Duncan debruçou-se sobre o parceiro.
— Vamos ter de convencer o piloto a voltar para trás.
27
20 DE NOVEMBRO, 06H42, IRKST
ILHA OLKHON, RÚSSIA
Gray despertou quando o Sol ainda não tinha nascido, sentindo os membros entrelaçados com os de outra pessoa e um rosto pousado no seu peito. O odor dos corpos, da sua paixão, ainda pairava no quarto. A mão esquerda agarrava o ombro de Seichan, como se receasse que ela se transformasse num fantasma, um sonho febril, e se esgueirasse por entre os dedos.
Seichan espreguiçou-se, um movimento langoroso todo feito de pele suave e uma sugestão de poder sinuoso e vibrante. Ela emitiu um som satisfeito que ribombou nos ossos de Gray. Inclinando a cabeça, ela abriu os olhos, que refletiram a pouca luz existente no quarto. Moveu a perna para baixo, o que o despertou ainda mais.
Ele estendeu o braço e, pondo-lhe um dedo por baixo do queixo, puxou-a para si. Os seus lábios roçaram-se, numa promessa de...
O telefone tocou ruidosamente na mesinha de cabeceira, pondo cobro àquele instante mágico, lembrando-lhes o mundo para lá deste pequeno refúgio de cobertores e lençóis em desordem. Gray grunhiu por entre os seus lábios unidos, puxando-a com mais força contra ele durante um longo momento e depois soltando-a e rolando para atender o telefone, mantendo uma mão pousada na curva da anca dela.
— Acabámos de aterrar em Irkutsk — informou-o Monk. — Apanhámos vento de feição e chegámos aqui mais depressa do que esperávamos.
Era a segunda vez que o amigo os interrompia; a primeira tinha sido há um par de horas, para o informar de que tencionavam vir ter com eles.
— Entendido — respondeu secamente. — Isso significa que ainda demoram umas duas horas.
O plano era que Seichan e Rachel esperassem pelo grupo de Monk na estalagem. Gray levaria os outros ao encontro com o xamã e depois voltaria aqui para se reagruparem.
Consultou o relógio. Tinham de partir dentro de quarenta e cinco minutos para assistir à cerimónia do nascer do Sol na gruta, por volta das oito.
Gray terminou rapidamente a chamada e pousou o telefone ao lado da cama.
Passou um braço à volta da cintura de Seichan e estendeu-se por cima dela...
— Bem, onde é que nós íamos...?
Meia hora mais tarde, Gray saiu do quarto, seguido por Seichan, que vestia apenas uma camisa comprida. Na opinião dele, não havia nenhuma razão para ela usar mais nada — mas o frio que reinava no corredor obrigou-os a pensar nas temperaturas abaixo de zero que os aguardavam. Com a mão dela na dele, ele beijou-a intensamente, selando a promessa de que haveria mais.
Quando a largou, uma porta ao fundo do corredor abriu-se e Rachel surgiu, surpreendendo-os no momento em que se separavam. Ela pareceu uns momentos perturbada e depois baixou simplesmente a cabeça, mas Gray reparou no seu pequeno sorriso. Já estava a par da tímida relação dele com Seichan e agora ficava a saber que não era assim tão tímida.
Rachel murmurou «bom dia» e desceu as escadas, de onde vinha o cheiro a ovos, toucinho e café acabado de fazer.
Gray e Seichan separaram-se finalmente com um último beijo — ela voltou ao quarto para mudar de roupa e ele dirigiu-se para a sala onde serviam o pequeno-almoço. Os proprietários da estalagem levavam essa refeição a sério e a mesa ostentava um copioso festim: queijo fresco, torradas, amoras, ovos cozidos, fatias de toucinho e grossas salsichas, bem como várias qualidades de peixe proveniente do lago.
Vigor encontrava-se sentado à mesa com uma chávena de chá a aquecer-lhe as mãos. Estava pálido e tinha um ar cansado, mas havia uma aura de contentamento à sua volta. Ao passar por trás do tio, Rachel beijou-o no alto da cabeça e agarrou num prato.
Gray foi juntar-se a eles e Rachel acolheu-o com uma expressão divertida, como a dizer até que enfim. Pelos vistos, a sua surpresa inicial e o embaraço tinham-se transformado em brincadeira bem-humorada. E ele também julgou ver uma certa tristeza melancólica nela, mas talvez isso fosse petulância da sua parte.
Para mudar de assunto — embora ninguém tivesse pronunciado uma palavra — Gray fez uma pergunta.
— Onde para o Kowalski?
— Ele já tomou o pequeno-almoço — respondeu Vigor, apontando com a cabeça na direção da porta. — E saiu para verificar o nosso transporte.
Por uma janela lateral, Gray avistou a cabeça rapada do parceiro na escuridão a inspecionar uma moto todo-o-terreno estacionada perto da estalagem. Iriam conduzir veículos de grandes rodas para uma pequena gruta na outra ponta da baía.
Gray atacou um grande prato de comida enquanto Vigor verificava a sacola que continha as relíquias. Kowalski voltou a entrar, trazendo o frio com ele e ansioso por partir.
— Estão prontos? — perguntou Gray, metendo umas amoras na boca.
— Atestado! — respondeu Kowalski. — Podemos partir em qualquer altura...
Entretanto, Seichan já tinha voltado. Tocara no ombro de Vigor com muda compreensão ao passar por ele. O gesto pareceu estranhamente íntimo — não manifestava tanto simpatia como apoio silencioso — como se estivesse a reconhecer algo que só ela sabia.
Gray lançou-lhe um olhar inquisitivo quando ela se sentou.
Mas ela abanou ligeiramente a cabeça, indicando que se tratava de um assunto pessoal.
Gray levantou-se por fim, sendo imitado por Vigor.
— Vamos deixar vocês as duas a tomar conta disto aqui — disse a Seichan e Rachel. — O Monk e os outros deverão chegar pouco antes das nove. Não vamos ter muito tempo para coordenar a nossa ação. Na opinião da doutora Shaw, temos ainda menos tempo.
Informou-as acerca das horas que faltavam, segundo as novas estimativas, e explicou o plano para juntar a cruz e o Olho de Deus.
— Tudo isso tem de ser feito antes das dez horas? — inquiriu Vigor em tom indignado. — O nascer do Sol é às oito, o que nos dá apenas duas horas...
— Então temos interesse em pôr esse feiticeiro a falar o mais depressa possível — comentou Kowalski.
— Kowalski tem razão — concordou Gray. — Mas a ilha não é muito grande. Desde que o local não seja demasiado distante, é exequível.
Tem de ser exequível, corrigiu em silêncio.
07h44
Abafado na parca por causa do frio, Vigor seguia na moto todo-o-terreno ao longo de um caminho arenoso por uma floresta costeira de pinheiros. O solo estava coberto de agulhas castanhas caídas que deixavam os ramos nus contra o céu brilhante. Apesar de o Sol ainda não ter subido acima do horizonte, a aurora cintilava a leste.
O caminho terminava num trecho curvo de praia polvilhado de neve e orlado pelo gelo que entrava pela baía dentro. Secções inteiras tinham sido destruídas pela ação das ondas, transformando o gelo em pedaços de vidro azul que chegavam até aos joelhos.
Para lá da orla gelada, o clarão matinal do dia conferia ao mar um tom azul-
índigo. A água era tão límpida que podia ser bebida sem receio. E as lendas locais contavam que, se nadássemos nela, viveríamos mais cinco anos.
Se isso fosse verdade, mergulharia logo lá apesar do frio, pensou Vigor.
Estava satisfeito por ter finalmente falado a Rachel acerca do cancro. Havia palavras que tinham de ser ditas e estava contente por ter tido tempo para as comunicar. Não temia a morte tanto quanto a perda dos anos que poderia viver com a sobrinha: vê-la crescer, casar-se e ter filhos.
Perderia tanta coisa.
Mas, pelo menos, dissera-lhe quanto ela significava para ele.
Obrigado, meu Deus, por essa pequena bênção.
Ao volante, Kowalski desviou-se e derrapou, determinado em pôr à prova a capacidade da viatura de não capotar. Só os jovens estavam convencidos da sua imortalidade e desejavam desafiar a morte de forma tão negligente. A idade acabava por sabotar essa confiança, mas os melhores de entre nós continuavam a combater moinhos de vento apesar de estarem ao corrente disso — ou, se calhar, por isso mesmo, apreciando cada dia, vivendo plenamente, mas sabendo que haveria um fim.
Ao chegarem à praia, Gray abrandou para seguir ao lado de Vigor e tirá-lo das suas deprimentes divagações. Apontou para um rochedo alto que sobressaía da extensão coberta de gelo.
— Aquilo ali é o cabo Burkhan? — perguntou.
Também se lhe chamava a Rocha do Xamã, casa dos deuses dos buriates, conhecido na língua nativa por tengrii, um dos dez sítios mais sagrados da Ásia.
Vigor confirmou com um movimento de cabeça, gritando-lhe por causa do vento que soprava do lago.
— A gruta cerimonial fica do outro lado, em frente do lago. É aí que o xamã irá encontrar-se connosco. Deve haver um istmo na extremidade desta praia que vai ter ao cabo.
Gray assentiu e acelerou, fazendo sinal a Kowalski para abrandar. Ambos contornaram depois a curva e seguiram por uma estreita faixa de terra que atravessava o gelo até umas falésias brancas escarpadas.
Um homem pequeno encontrava-se de pé no fim do istmo, guardando a passagem para o promontório. Era um jovem magro, vestido com um casaco comprido de pele de carneiro por cima de uma túnica azul cintada.
Transportava um tambor de pele pendurado num ombro. Fez-lhe sinal com a mão para pararem e desligarem o motor, não parecendo muito contente com o barulho. Vigor sabia que, no passado, os visitantes envolviam os cascos dos cavalos com pedaços de cabedal para não perturbar os deuses do cabo.
— Chamo-me Temur — apresentou-se o rapaz num inglês tenso, curvando-se ligeiramente. — Vou levá-los ao ancião Bayan. Ele está à vossa espera.
Kowalski retirou a sacola da parte de trás da moto de Vigor e seguiram o jovem ao longo de um caminho, subindo depois uns degraus de gelo talhados à mão na encosta da falésia. A larga entrada de uma caverna à frente do lago abria-se por cima deles.
Depois de escalarem a falésia e entrarem na gruta, Vigor respirava ruidosamente. Duas pilhas de pedras com panos coloridos e pendões que esvoaçavam ao vento ladeavam a entrada, onde um velho mirrado de idade indeterminada estava ajoelhado. Tanto podia ter sessenta anos como cem.
Estava vestido da mesma maneira que o rapaz, mas tinha um chapéu alto e pontiagudo na cabeça. Deitava ramos secos de zimbro numa fogueira diante dele e um fumo indolente rodopiava pela gruta.
Mais atrás, um túnel penetrava no promontório, mas Vigor duvidava que até mesmo as suas credenciais do Vaticano lhe permitissem lá entrar.
— O ancião Bayan deseja que se ajoelhem ao lado dele com o rosto virado para o lago.
Gray fez sinal aos companheiros para obedecerem.
Vigor sentou-se num lado e os amigos no outro. O fumo picava-lhe os olhos e as narinas, mas cheirava muito bem. Temur começou a bater lentamente no tambor enquanto o xamã recitava preces com um ramo de zimbro a fumegar na mão.
O lago escuro iluminou-se aos poucos e a cor da sua água passou de um índigo profundo a azul-celeste. O gelo cintilava em tons de cobalto e safira.
Houve de repente um clarão e o fogo, aceso pelos primeiros raios do sol que se espalhavam como ouro derretido, alastrou-se pela água e pelo gelo.
Vigor entreabriu a boca de espanto, sentindo-se privilegiado perante tal espetáculo. E até mesmo o vento, como que intimidado, deixou de soprar por uns instantes.
Com uma batida final no tambor, Temur virou-se para eles.
— Podem agora falar com o ancião Bayan.
O xamã levantou-se, fazendo-lhes sinal para se porem de pé.
Depois de devidamente abençoado, Vigor curvou-se diante do ancião.
— Obrigado por nos receber. É urgente e procuramos quem conheça bem Olkhon.
Temur traduziu o pedido a Bayan.
— Que querem saber? — perguntou o jovem em nome do ancião.
Vigor virou-se para Gray.
— Mostre-lhe as relíquias.
Tirando a sacola a Kowalski, Gray abriu-a e tirou cuidadosamente os objetos, pondo o crânio e o livro ao lado da caixa de prata enegrecida. Levantou então a tampa e mostrou o barco no interior.
A única reação de Bayan foi abrir ligeiramente os olhos.
— Que é isto? — perguntou Temur. Desta vez, a pergunta não fora feita pelo xamã, mas devia-se apenas à curiosidade do jovem.
O xamã limitou-se a passar as mãos por cima de cada objeto e a murmurar algumas preces.
Finalmente, voltou a falar e Temur traduziu.
— O poder é antigo, mas não desconhecido.
Vigor fitou as mãos enrugadas de Bayan.
Sentiria ele a mesma energia que Duncan?
O xamã pôs a palma da mão a pairar sobre o crânio.
— Sabemos o que procuram — continuou Temur, falando em nome do ancião. — Mas acarreta grandes perigos.
— Teremos muito prazer em enfrentar o perigo — afirmou Vigor.
Bayan franziu o sobrolho quando esta resposta lhe foi sussurrada ao ouvido.
— Não terão, não — disse Temur, virando-se para o monsenhor. — O ancião Bayan diz que sofres agora, mas hás de sofrer ainda mais.
Vigor lançou um olhar apreensivo a Gray.
— Vou levá-los ao que procuram — prosseguiu Temur.
Tal oferta deveria ter enchido Vigor de alegria, mas deu por si a sentir cada vez mais frio, enquanto o xamã olhava para ele com uma expressão que parecia uma máscara de pesar.
Vigor aceitava a morte como uma coisa inevitável, mas pela primeira vez em muitos meses teve medo do que podia acontecer.
08h07
Rachel entrou no estábulo localizado nas traseiras da propriedade. Puxou para baixo o fecho de correr da parca. Apetecera-lhe dar um passeio depois do pequeno-almoço para queimar a energia nervosa e também pensar no tio.
Tivera de reprimir a vontade de lutar contra a doença do tio; mentalmente, fizera listas sobre que médicos consultar, a que clínicas ir, em que novos tratamentos experimentais se inscrever. Mas acabou por perceber que tinha de largar tudo isso. Vigor estava em paz consigo mesmo e ela devia seguir o seu exemplo.
No entanto, não conseguia ficar quieta na estalagem. E também não sabia o que dizer a Seichan depois de a ver sair do quarto de Gray. Era demasiado embaraçoso, pelo que resolveu dar um passeio — até o frio a obrigar a regressar à estalagem, com o nariz entorpecido e as faces a arder por causa do frio.
Em vez de se refugiar no interior, tinha entrado no estábulo para fugir à ventania. Os cavalos, que aqueciam o espaço, relincharam docemente devido à sua intrusão. O lugar cheirava a feno, estrume e suor. Percorreu o espaço, acariciando o focinho de veludo de uma égua e oferecendo uma mão-cheia de grãos a outro.
Assim que se sentiu mais quente, dirigiu-se para a porta e abriu-a. Foi acolhida por uma rajada de vento frio.
Curvou-se para se proteger e avançou a arrastar os pés na direção da estalagem.
Um estrondo fê-la erguer a cabeça. Era como o som de uma persiana solta a bater ao vento. Seguiram-se mais estrondos.
Tiros.
Estacou, confusa — um braço rodeou-lhe o pescoço por trás, asfixiando-a.
E sentiu o cano frio de uma pistola contra a têmpora.
8h10
Seichan só teve uns instantes para reagir.
Sintonizada com o que a rodeava, sentira que se passava qualquer coisa. Ao longo da manhã, fechada no quarto, habituara-se ao ritmo sossegado da estalagem: os murmúrios de marido e mulher no andar de baixo, o ruído metálico dos tachos e panelas, o vento a assobiar nos beirais. Tinha ouvido a porta abrir-se de vez em quando, provavelmente um dos donos a levar o lixo lá para fora ou, da última vez, Rachel a sair para ir explorar a aldeia.
Quando, há meio minuto, a porta se abrira, pensara que era Rachel a regressar, mas os barulhos por baixo dela tornaram-se abafados, com exceção da queda de um prato no soalho de madeira.
Ficara tensa, os músculos endurecidos, os sentidos alerta. Até mesmo o pó no quarto parecia imóvel, à espera...
E então os degraus da escada estalaram.
Ela precipitou-se para agarrar a SIG Sauer, ainda no coldre, pousada na mesinha de cabeceira. Saiu porta fora de arma em punho e afastou-se das escadas, em direção a uma janela no fundo do patamar. Viu uma sombra alongar-se furtivamente ao pé das escadas e depois um homem com um camuflado branco. Disparou duas vezes para trás enquanto fugia. Ouviu um grito. Tinha-o apenas ferido, mas deu-lhe tempo para saltar pela janela no meio de uma chuvada de vidros e pedaços de madeira. Aterrou no beiral do andar de baixo, rolou por ele e transpôs a borda.
Contorceu-se no ar e caiu de pé, apoiada num braço. Manteve o outro levantado, apontando a pistola à sua volta. Encontrava-se agora por trás da casa.
Avistava-se um bosque do outro lado de um pequeno pátio. Correu para lá, mas viu um grupo de homens armados, também em camuflado, sair de entre as árvores.
Virou à direita, onde havia uma fossa aberta ao longo da estrada. Precisava de cobertura e de atravessar o cerco que fora claramente montado à volta da estalagem.
Desatou a correr quando as balas começaram a despedaçar a erva gelada à volta dela, disparando às cegas na direção do bosque. Ainda era capaz de se safar.
Ouviu então uma voz familiar gritar.
— PARA OU MATO-A!
Não parou. Percorreu velozmente a distância que lhe faltava e estendeu-se de barriga para baixo na fossa. O gelo estalou debaixo dela quando se virou para ver o homem que tinha gritado. Ali escondida, apontou a pistola.
Avistou do outro lado do pátio, perto do estábulo, um homem grande agarrar Rachel pelo pescoço.
Ju-long de um lado dela.
No outro, Hwan Pak.
O cientista norte-coreano tinha uma pistola encostada a uma orelha de Rachel.
— Sai já daí! Ou dou-lhe cabo dos miolos!
Seichan tentou pensar no que acontecera. Como tinham eles chegado até aqui? Reparou que todos os atacantes eram norte-coreanos. Faziam provavelmente parte das tropas especiais de elite do seu país. Mas como a tinha Pak encontrado?
Rachel gritou-lhe: — Foge!
O seu captor deu-lhe uma forte pancada na cabeça, mas ela continuou a debater-se, meio asfixiada.
Sabendo que matariam certamente Rachel se tentasse fugir — estratégia que, a seu ver, tinha cada vez mais hipóteses de ser malsucedida —, acabou por levantar os braços no ar e render-se.
— Não disparem! — gritou.
Mais soldados apareceram por trás dela como fantasmas. Era de crer que Pak tinha trazido um exército inteiro com ele.
Porquê?
Tiraram-lhe a pistola e conduziram-na à presença de Pak.
Quando Seichan se aproximou, os olhos de Rachel cruzaram-se com os dela.
Tinha um ar mais zangado do que assustado e quase pedia desculpa por pôr Seichan nesta situação.
Mas Seichan não podia culpá-la. A responsabilidade de tudo isto era dela, tratava-se de um perigo que ela tinha arrastado até aqui.
O brutamontes que segurava Rachel devia ser o chefe dos militares. Usava óculos de sol espelhados e um capuz cobria-lhe a maior parte do rosto — tudo o que se via eram cicatrizes, o que era de mau agouro. Ela podia cheirar a maldade e a ameaça que aquele tipo representava. Não era um mero recruta, mas um guerreiro endurecido pelas batalhas.
Pak virou-se para ela, sorrindo com frieza e prometendo muita dor.
— Agora vais dizer-nos onde se encontram os americanos.
28
20 DE NOVEMBRO, 08H12, IRKST
ILHA DE OLKHON, RÚSSIA
Gray ia à frente na moto todo-o-terreno com o aprendiz do xamã, Temur, no assento de trás. Dirigiam-se para norte do cabo Burkhan, rolando sobre a espessa camada de gelo ao longo da costa.
Nos seus próprios veículos, Kowalski e Vigor seguiam-nos de perto.
A manhã ficou rapidamente brilhante, transformando o gelo em vidro.
Certos lugares eram tão transparentes como água. Neve seca e gelo deslizavam à superfície, ao sabor do vento.
— Depois daquele amontoado de rochedos! — avisou Temur. — Cerca de um quilómetro e meio mais.
Usando esse ponto de referência, prosseguiram ao longo de uma extensão deserta onde falésias com densos bosques no topo se elevavam da água.
Protegendo os olhos com a mão para observar os arredores, Temur aconselhou-os vivamente a aproximarem-se da costa.
— Ali! — gritou por fim. — Vamos para aquela abertura!
Gray avistou a entrada de uma gruta marítima. Era suficientemente grande para lá caber uma pequena carrinha, mas numerosas estalactites, longas e maciças, pendiam da parte de cima como presas prontas a morder e só permitam a entrada das motos todo-o-terreno em fila indiana.
Gray avançou lentamente, acendendo os faróis para iluminar o interior da gruta. Um túnel perdia-se na escuridão. Estalactites cobriam o teto arqueado e havia quedas-d’água congeladas nas paredes, formando cortinas de cristal.
— Não vamos entrar, pois não? — perguntou Kowalski com ar desconfiado.
— Grutas são uma coisa, mas grutas de gelo...
Em resposta, Gray baixou a cabeça e entrou com o veículo, seguindo o feixe de luz dos faróis.
No interior, o espaço era ainda mais maravilhoso. A camada gelada por baixo dos pneus era tão transparente que se viam rochas cobertas de musgo no fundo e peixes a nadarem na água sob o gelo.
— Parece que a gruta não acaba aqui! — gritou Gray.
Seguindo as instruções de Temur, continuou a embrenhar-se no túnel, o qual se ia alargando à medida que o teto se tornava mais alto. Mas, uns trinta metros mais adiante, terminou numa grande gruta, uma catedral de gelo.
Lustres de cristal azul cintilante pendiam do teto e colunas de diamantes elevavam-se em volta.
Ao entrarem, a pressão dos seus passos fez gemer e estalar o gelo por baixo dos pés, ampliando o som e fazendo-o ecoar nas paredes. Uns pingentes mais frágeis dos lustres soltaram-se e estilhaçaram-se no gelo, retinindo como música.
Do outro lado da gruta, uma espessa cortina de gelo tombava em pesadas pregas ao longo da parede do fundo, onde uma cascata de água alimentada por uma fonte tinha congelado. Umas gotas ainda escorriam à superfície, dando ao gelo um lustro de quartzo antes de congelar em baixo.
Uma mancha escura no meio do chão desfigurava a pristina superfície, abrindo um buraco pelo gelo até à água no fundo. Os seus lados íngremes estavam manchados e gastos.
Ao entrar, Gray vira um corpo castanho lustroso a deslizar por esse buraco de respiração abaixo. Devia ser usado pelo mamífero mais famoso do lago Baical, a foca-da-sibéria.
Sem poder prosseguir caminho, Gray parou o veículo. Kowalski e Vigor vieram juntar-se a ele, um de cada lado.
— Onde estamos? — perguntou Kowalski.
Foi Temur quem respondeu.
— É aqui que as focas do Baical vêm dar à luz e onde as crias são protegidas durante o inverno. É considerado um local muito especial pelo nosso povo.
Dizem que somos descendentes espirituais dessas nobres criaturas.
— Mas porque nos trouxeste aqui? — insistiu Gray, olhando à sua volta. Não estava com disposição para admirar as belezas naturais do Baical. Sobretudo com os ponteiros do relógio a avançar.
— Porque o ancião Bayan me disse para os trazer a esta gruta — explicou Temur. — É tudo o que sei.
Gray virou-se para Vigor, que parecia igualmente espantado.
— Se calhar o velhote gosta de focas... — sugeriu Kowalski.
— Ou então trata-se de um teste — disse Vigor. — Todos os outros sítios de Gengis Khan estavam bem escondidos, onde a terra se encontra com a água, como aqui. Mas foram mais fáceis de encontrar por causa da seca na Hungria ou da catástrofe ecológica que secou o mar de Aral.
— Bem, há milhões de anos que nada muda nesta região — comentou Gray.
— Isto não vai ser fácil...
— Assim parece.
Gray esquadrinhou a câmara incrustada de gelo, esforçando-se para permanecer calmo. Reparou numa coisa: o xamã não os enviara para aqui completamente sem recursos. Lembrou-se de ter ouvido Bayan explicar a Temur onde os levar. Usara poucas palavras, mas o jovem soube exatamente onde ir. Isso significava apenas uma coisa.
— O teu povo tem um nome particular para esta gruta, Temur?
O rapaz assentiu.
— Na nossa língua chamamos-lhe Emegtei, que quer dizer o ventre de uma mulher — disse, inchando a sua própria barriga por meio de gestos.
— Um útero — murmurou pensativamente Gray.
— Sim, é isso — aquiesceu Temur, fazendo uma vénia e recuando. — Espero que encontres o que procuras. Mas eu tenho de me ir embora.
— O meu amigo pode dar-te uma boleia de volta ao cabo Burkhan — ofereceu Gray, apontando para Kowalski.
Temur abanou a cabeça.
— Não é necessário. Tenho parentes aqui perto.
Depois de o rapaz partir, Vigor fez um gesto na direção do buraco para chamar a atenção de Gray.
— Um útero... Faz sentido. Este local é a câmara onde nasce o animal totémico da ilha.
Gray não discordou. Tinha aliás a certeza de que, embora a abordagem fosse diferente, o monsenhor estava certo.
— O senhor não disse que foi na ilha de Olkhon que a mãe de Gengis Khan nasceu?
Vigor arregalou os olhos.
— É verdade!
— Quer dizer então que este local sagrado pode ter sido escolhido como representação simbólica da origem de Gengis Khan.
— O seu útero espiritual — concordou Vigor.
Kowalski examinou a gruta gelada de sobrolho carregado.
— Se vocês têm razão, a mãe dele devia ser frígida...
Gray interrompeu-o.
— Isto aqui deve ser o lugar certo.
— Mas em que é que isso nos ajuda? — perguntou Vigor.
Gray fechou os olhos, imaginando a câmara como um útero e o túnel para o mar um canal por onde passava o recém-nascido rumo à vida.
Mas a vida não começa no útero...
Precisa, primeiro, de uma centelha, uma origem primitiva.
Na opinião de Vigor, Gengis Khan estava tecnologicamente avançado para a sua época e, embora desconhecesse o processo de fertilização do esperma e dos óvulos, os cientistas seus contemporâneos estavam certamente a par, em traços gerais, da anatomia humana.
Gray desceu da sua viatura e, tirando a lanterna da mochila, atravessou a gruta, tentando não escorregar no gelo e afastando-se prudentemente do buraco. Iluminou a parede do fundo, seguindo a parte superior da queda-d’água congelada e os pingos que ainda escorriam.
Oito metros acima da sua cabeça descobriu a fonte. Um buraco escuro indicava outro túnel, meio cheio de água, onde a queda-d’água alimentada pela fonte tinha congelado.
Vigor compreendeu.
— Expressão simbólica das trompas de Falópio das mulheres.
Pelas quais a vida flui para o útero.
— Tenho equipamento de alpinismo na mochila — disse Gray. — Devo ser capaz de escalar a queda-d’água e chegar àquele outro túnel.
Ao virar-se para trás, surpreendeu a expressão de desejo nos olhos do monsenhor e deu-lhe uma palmadinha nas costas.
— Não se preocupe. Posso arranjar outra corda e iremos juntos.
Voltaram à pressa para o todo-o-terreno e Gray pôs-se a reunir o material de que precisariam.
Vigor tremia e batia com os pés por causa do frio, mas a excitação fazia brilhar os seus olhos.
— Deve haver estações do ano em que é impossível atravessar a passagem lá em cima.
Gray franziu a testa. — Que quer dizer com isso?
— Na primavera e no verão, o buraco é muito provavelmente inundado pela água, tornando-se então impossível passar por lá. Só no inverno, quando está congelado, o túnel se torna acessível.
Gray fez uma pausa para refletir.
— Poderiam eles ter feito isso de propósito? A data inscrita no crânio para o próximo apocalipse é novembro, um mês invernal.
— Talvez fosse uma maneira de limitar o acesso — disse Vigor. — Para preservar o tesouro até à estação em que mais precisassem dele.
Depois de fixar grampos afiados nas solas das botas, Gray endireitou-se com um rolo de corda ao ombro e um machado para o gelo.
Só havia uma maneira de saber.
08h32
Vigor viu Gray trepar a parede de gelo de respiração suspensa. Tenha cuidado...
Gray não queria correr riscos desnecessários. Não tinham tempo para acidentes ou quedas. Instalava cuidadosamente cada pitão nas fendas, cravando as cavilhas bem fundo. Movia-se devagar, desenrolando uma corda enquanto avançava.
A três quartos da subida, experimentou o machado no gelo — um grande bocado soltou-se da parede. Como num glaciar, uma grande parte desabou, despenhando-se lá em baixo com estrondo. Blocos de gelo espalharam-se e deslizaram até às motos todo-o-terreno.
Gray perdeu o equilíbrio e ficou pendurado na corda. Conseguiu, contudo, apoiar os pés no gelo e recomeçou a subir ainda com mais cautela. Alcançou finalmente o topo e penetrou no túnel gelado.
Acendeu então a lanterna, dando à queda-d’água o aspeto de vidro azul ondulado. Acenou aos companheiros.
— A passagem está desimpedida! — gritou. — Deixem-me amarrar uma corda. Ajuda o monsenhor, Kowalski!
Sem demoras, passou a corda por uma cavilha firmemente aparafusada no teto do túnel. Kowalski prendeu Vigor a uma corda e, puxando outra, içou-o praticamente até lá acima, enquanto Vigor fazia o possível para ajudar, içando-se numa cavilha ou puxando-se ao segurar-se noutra.
Por fim, deu por si estendido de barriga para baixo no túnel, junto de Gray.
Olhou para o fundo. Era como uma abertura inclinada do interior de uma safira.
— Vamos! — disse Gray, gatinhando em frente. — Mantenha-se atrás de mim.
O túnel elevava-se ligeiramente, tornando a passagem pelo gelo traiçoeira. A superfície era escorregadia e húmida. Bastaria um pequeno erro para uma pessoa deslizar por ali fora e ser projetada no espaço.
Quinze metros mais adiante, havia tanto gelo acumulado que Gray teve de rastejar e contorcer-se como um verme para conseguir passar. Vigor parou, tomado subitamente por uma sensação de claustrofobia.
— Agora já há mais espaço! — ecoou a voz de Gray. — Tem de vir ver isto!
Animado pelo tom excitado do companheiro, Vigor fez um esforço e continuou a avançar. Em certo momento, uma mão agarrou-lhe o pulso e puxou-o, como se tirasse a rolha a uma garrafa.
Vigor deparou com outra gruta por cima de um lago gelado. À esquerda, elevava-se a encosta de uma falésia com uns quatro metros de altura. A lanterna de Gray iluminou uma série de degraus talhados na rocha que pareciam conduzir a um rebordo no alto.
— Venha daí — incitou Gray.
Subiram com cuidado e Gray utilizou o machado para desbastar o gelo acumulado em alguns degraus até chegarem finalmente à parte de cima.
Gray ofereceu-se para ajudar Vigor a levantar-se, mas este recusou e olhou para a parede do fundo. Por uma fina crosta de gelo, distinguiu duas portas arqueadas.
— É a entrada do túmulo de Gengis Khan — murmurou, agarrando o braço do companheiro. Precisava da solidez de Gray para se certificar da autenticidade do que estava a ver.
08h48
Gray não teve tempo para festejar ou saborear a descoberta. Utilizando o cabo do machado de aço, quebrou o gelo que cobria a entrada. Grandes placas desprendiam-se a cada pancada e a porta ressoava como se fosse de metal. Em menos de um minuto, o caminho estava desimpedido.
A entrada não era mais alta do que ele.
Enquanto Gray tirava os restos de gelo das dobradiças, Vigor encostou respeitosamente a mão à porta. Examinou, à luz da lanterna, uma amolgadela que o machado de Gray tinha feito na porta metálica.
— É de prata! — exclamou. — Como a caixa que contém o barco de ossos.
Mas, observando melhor, vejo que por baixo é de madeira. Apenas a superfície é prateada. Mas, ainda assim...
Os olhos do velhote brilhavam.
Logo que as dobradiças ficaram limpas, Gray puxou para cima a lingueta que mantinha as portas duplas fechadas e depois afastou-se para dar a Vigor a honra de ser o primeiro a abri-las.
Retendo a respiração, o velhote segurou as maçanetas e puxou-as com toda a força. O gelo que ainda se encontrava nas dobradiças rangeu e as portas abriram-se de par em par.
O que viram fez Vigor recuar.
Não era o que esperavam.
Embora quase vazia, não deixava de ser assombrosa.
Uma câmara circular dourada brilhava diante deles. O chão, o teto, as paredes... tudo estava coberto de metal amarelo rosado. Até mesmo o lado interior das portas era forrado de ouro.
Gray deixou o monsenhor entrar primeiro.
O ouro tinha sido trabalhado com requinte por toda a parte. No teto, nervuras de ouro convergiam num ponto circular e postes do mesmo metal precioso sustentavam as paredes. A intenção desta disposição era óbvia.
— É uma iurte de ouro — disse Gray. — Um ger mongol.
Vigor examinava a abóbada da entrada.
— Quando a porta está fechada, forma uma câmara sólida. Encontramo-nos, simbolicamente, no interior da terceira caixa do relicário de São Tomé.
Gray lembrava-se de que o crânio e o livro tinham sido fechados numa caixa de ferro, o barco numa de prata e agora eles estavam dentro de uma de ouro.
Vigor moveu-se para a direita, como se o incomodasse entrar completamente naquela câmara.
— Olhe para as paredes.
Fixos nos postes de ouro via-se o que pareciam ser suportes para archotes, cravejados de joias. Gray estendeu o braço e percebeu que se tratava de uma coroa. Lançou um olhar à sua volta. Eram todas coroas.
— Provenientes dos reinos conquistados por Gengis Khan — declarou Vigor. — Mas isto aqui não é o túmulo dele.
Gray percebera isso assim que as portas se tinham aberto. Não era nenhuma necrópole atulhada de riquezas e tesouros do mundo antigo. Sepulcros de Gengis Khan e dos seus descendentes com joias ainda estavam para ser descobertos, possivelmente nas montanhas da Mongólia.
— Estas coroas foram deixadas aqui para homenagear a pessoa que jaz nesta cripta — murmurou Vigor, que avançava encostado às paredes, claramente ainda a reunir coragem para penetrar na câmara.
O espaço das paredes entre os postes estava coberto por obras artísticas. A superfície brilhante fora martelada e o estilo era sem dúvida chinês.
— No decorrer da dinastia Song, era típico descrever de forma artística nos túmulos a vida dos seus ocupantes — disse Vigor. — E este aqui não constitui exceção.
Gray reparou que o primeiro painel à direita da porta mostrava uma montanha estilizada com três cruzes no alto. Figuras em lágrimas desciam a encosta sob um céu tempestuoso.
No painel a seguir, figurava um homem de joelhos com a mão estendida para o flanco ferido de outro que flutuava por cima dele.
Ao examinar os painéis seguintes, viu que o mesmo homem fazia uma longa e aterradora viagem povoada de dragões e outros monstros do folclore chinês — até chegar à beira de um mar com enormes vagas, onde uma multidão o saudava brandindo bandeiras e símbolos de alegria e sabedoria.
— É a vida de São Tomé! — exclamou Vigor ao terminarem o circuito. — Eis a prova de que ele chegou à China e ao mar Amarelo.
Mas isto não era o fim da vida do santo.
Monsenhor deteve-se em frente do último painel.
Um gigantesco rei chinês entregava uma enorme cruz ao santo e, no céu com uma lua em quarto crescente e muitas estrelas, via-se um cometa.
Vigor virou-se finalmente para encarar a câmara quase vazia. Uma pilha de pedras amontoava-se no centro deste ger de ouro. Era parecida com a que tinham visto à entrada da gruta do xamã.
Uma simples caixa preta estava pousada nesse pedestal de pedras.
Vigor lançou um olhar a Gray, como a pedir-lhe autorização.
Gray reparou na palidez amarelada da pele do velhote. Nem toda se devia ao reflexo do ouro. Era icterícia.
— Vá ver o que é — disse-lhe simplesmente Gray
08h56
Vigor atravessou a câmara e aproximou-se da caixa. A emoção entorpecia-lhe as pernas e quase o fazia perder o equilíbrio.
Talvez fosse melhor avançar de gatas.
Mas manteve-se direito e conseguiu chegar ao pedestal. A caixa que lá estava pousada parecia de ferro, mas era provavelmente uma mistura. Um ideograma chinês estava gravado na tampa.
Duas árvores.
Exatamente como Ildiko tinha descrito e copiado.
Abriu a tampa com dedos trémulos. No interior, havia uma segunda caixa.
Tão preta como a primeira. Mas Vigor sabia que, por baixo daquela perda de brilho, era de prata. Mais um símbolo fora lá inscrito.
Ordenar.
Abriu-a, encontrando uma caixa de ouro. Não tinha enfeites, mas cintilava e parecia quase nova. Havia um pequeno ideograma em cima.
Proibido.
Susteve a respiração. E usando apenas as pontas dos indicadores, levantou a tampa.
Recitou uma pequena prece.
No interior, apoiado em minúsculos pilares de ouro, estava um crânio castanho-amarelado. As órbitas vazias fitavam-no. Uma espiral inscrita em aramaico judeu era tenuemente visível.
A relíquia de São Tomé.
Vigor quase caiu de joelhos, mas Gray devia ter notado que ele tremia e agarrou-o, mantendo-o de pé.
Com lágrimas nos olhos, agarrou na relíquia.
Venerava São Tomé e tinha-o em mais estima do que os restantes apóstolos de Cristo. Para Vigor, a dúvida do santo tornava-o muitíssimo humano, tornando possível uma pessoa identificar-se com ele. Era um exemplo da guerra entre a fé e a razão. São Tomé questionava, necessitava de provas, era um cientista da sua época, alguém que procurava a verdade. Até mesmo o seu evangelho punha de lado a religião organizada, declarando que o caminho da salvação, o caminho para chegar a Deus, estava aberto a quem quisesse.
Procura e encontrarás.
Não era isso que tinham feito nestes últimos dias?
— Encontrámos o túmulo de São Tomé — disse o monsenhor com voz embargada pela emoção e pelas lágrimas. — Os nestorianos, juntamente com o testamento de Ildiko, devem ter convencido Gengis Khan a construir este santuário ao santo. É por isso que o seu evangelho foi escrito e deixado na Hungria. Era um convite para encontrar esta cripta. O primeiro sítio preservou as palavras de São Tomé... e o segundo, o seu corpo e a sua herança.
Vigor permitiu que os seus dedos tocassem no crânio sagrado e o retirassem do relicário de ouro.
Gray postou-se ao seu lado, iluminando com a lanterna o interior da caixa, enquanto o companheiro examinava a relíquia.
Uma simples cruz preta estava pousada no fundo.
Era de metal, tão comprida como uma mão estendida, e parecia pesada.
— A cruz de São Tomé... — murmurou Gray. — Mas como podemos ter a certeza?...
Apesar da gravidade daquele momento, o monsenhor sorriu.
Enquanto Vigor não tinha nenhuma dúvida, Gray necessitava de provas.
— Duncan há de saber.
Gray consultou o relógio.
— Só nos resta uma hora. Vou ver se já chegaram...
— Vá — disse Vigor. — Eu fico aqui à espera.
Gray deu-lhe uma tranquilizadora palmadinha no ombro e partiu apressadamente.
E só então Vigor caiu de joelhos, com a relíquia de São Tomé nas mãos.
Obrigado, meu Deus, por me concederes este momento.
No entanto, apesar do respeito reverencial, ainda sentia algum medo. Os olhos do xamã — e o seu aviso — perseguiam-no.
Sofres agora, mas hás de sofrer ainda mais.
09h04
Gray saiu do túnel montado na moto todo-o-terreno. A manhã estava brilhante. Tinha de sair da gruta para que o telefone via satélite funcionasse.
Marcou o número de Monk e este atendeu imediatamente.
— Onde estão? — perguntou Gray.
— A atravessar o lago gelado de autocarro. Estamos quase a chegar à ilha.
Gray conteve um gemido. Estavam atrasados.
— Preciso que venham diretamente para aqui. Vou falar com Seichan daqui a pouco e pedir-lhe para fazer o mesmo. Estou a uns cinco quilómetros do cabo Burkhan, junto à costa, à entrada de um túnel no mar. Vou deixar a moto à entrada como ponto de referência.
— Encontraste a cruz? — perguntou Monk.
Gray deu então conta de que nem sequer tinha mencionado isso.
— Sim, mas precisamos que Duncan confirme que se trata da verdadeira.
E é preciso que o Olho de Deus também venha.
Ouviu Jada dizer a Monk: — Diga ao Gray para não mudar a cruz de lugar!
— Do que está ela a falar? — inquiriu Gray.
— Vou deixar que ela te explique. Agora, vou ver se arranjo um itinerário mais curto para ir ter contigo.
— Que...?
Mas foi Jada quem falou ao telefone.
— Não mudou a cruz de sítio desde que a encontrou, pois não? — perguntou ela com voz assustada.
— Não.
Ele nem sequer quisera tocar-lhe sem confirmação.
— Ótimo. Penso que a melhor maneira de pormos fim a esta ligação quântica entre a cruz e o cometa é mantendo a cruz nas suas atuais coordenadas espaciais.
— Porquê?
— Porque a cruz encontra-se atualmente num ponto específico da curva do espaço-tempo da Terra. E eu quero que o tempo continue a ser a única variável... Posso mostrar-lhe os meus cálculos...
— Confio nas suas palavras. Tudo o que quero é que tragam o Olho de Deus para aqui a tempo.
— Monk está a fazer o possível...
Gray ouviu Duncan gritar ao longe: — Vais fazer o quê?!
E, a seguir, um alvoroço de gente aos berros.
— Que se passa? — perguntou a Jada.
— Vamos a caminho — respondeu ela sem o elucidar.
E a comunicação foi bruscamente interrompida.
Gray não podia senão confiar que eles sabiam o que estavam a fazer.
Telefonou depois a Seichan. Após uma demora mais longa do que esperava, a chamada foi atendida.
— Onde estás? — perguntou Seichan com voz irritada.
Sem perder tempo a comentar a ríspida reação dela, Gray disse-lhe apenas onde se encontrava e pediu-lhe para vir imediatamente ter com ele.
E Seichan desligou com a mesma brusquidão.
Gray abanou a cabeça.
Restava-lhe acreditar que ela faria o que estava certo.
29
20 DE NOVEMBRO, 09H06, IRKST
ILHA OLKHON, RÚSSIA
Seichan não sabia que fazer.
Pak aproximou o rosto e ela sentiu o seu hálito a tresandar a tabaco. Desde que ele tinha ali chegado que fumava sem parar.
— Conta-me o que eles disseram! Onde estão agora?
Pak ainda segurava o telemóvel dela na mão. Atrás dele, o chefe do comando norte-coreano — a quem ela ouvira chamar Ryung — mantinha a pistola apontada ao peito de Rachel. Pak tinha obrigado Seichan a perguntar a Gray onde estava e depois desligara a chamada antes que ela pudesse avisá-lo.
Ambos os norte-coreanos estavam claramente a perder a paciência.
Pak percorria de um lado para o outro a sala comum da estalagem, fumando colericamente um cigarro. De pé junto à lareira, Ju-long não parecia nada satisfeito com o que se passava. Seichan tinha a impressão de que ele estava ali contrariado. Era um homem motivado por dinheiro e estatuto social, e não havia nenhum lucro no que estava a acontecer aqui.
Mas nem por isso os ajudaria.
Rachel estava amarrada a uma cadeira diante de Seichan. Ambas tinham sido imobilizadas pelos homens de Ryung e não havia magia que as salvasse desta situação. Uma faca escondida ou uma maneira de quebrarem as cadeiras ou se soltarem dos nós das cordas.
Seichan estava ciente da realidade que enfrentava. Estavam ambas à mercê de Pak — e ela duvidava que o homem tivesse quaisquer sentimentos.
Reconhecendo isso, tinha contado aos seus raptores onde Gray e os outros se encontravam. Se não o tivesse feito, eles teriam certamente assassinado Rachel.
Só tinha de olhar para o corpo do estalajadeiro estendido numa poça de sangue, com as pernas, sem um sapato, a saírem pela porta da cozinha, para ter a certeza disso.
Assim, falou-lhes do encontro de Gray no cabo Burkhan, ao nascer do Sol.
Procurava ganhar tempo, esperando que, entretanto, Monk chegasse à estalagem e desse a volta à situação, talvez até mesmo as salvasse ou, pelo menos, lhes desse a oportunidade de escaparem durante a confusão.
Depois da confissão de Seichan, Ryung mandara um punhado de homens ao cabo Burkhan e estes voltaram meia hora depois, confirmando que ela tinha dito a verdade. Mas quando interrogavam o xamã, este lançara-se da falésia sem revelar para onde Gray tinha ido.
Os norte-coreanos tiveram de acabar por aceitar que ela também não sabia — embora se divertissem a torturar as duas mulheres. Ambas tinham queimaduras de cigarros nas mãos como prova.
E depois foi o telefonema.
E Pak aproveitou a oportunidade para se atualizar.
— Não lhes digas — balbuciou Rachel por entre os lábios feridos. — Sabes bem o que está em jogo.
Frustrado com as táticas de Seichan, Pak apagou o cigarro e parou de andar às voltas na sala. Aproximou-se a esfregar as mãos, com uma expressão divertida a brilhar nos olhos.
Seichan sentiu-se gelar.
— Vamos tornar isto interessante, está bem? — disse ele.
E, separando as mãos, mostrou uma moeda de prata norte-coreana. Num dos lados estava gravado o rosto sorridente do ditador Kim Jong-il.
— Sabes bem que eu gosto de apostas... Vamos lançar a moeda ao ar. Cara, matamos a tua amiga. Coroa, ela vive.
Seichan ficou horrorizada perante a crueldade gratuita do homem.
— Vou lançar a moeda ao ar... Assim que sair cara, ela morre.
Ryung apontou a pistola ao peito de Rachel com maior firmeza.
Recuando, Pak lançou a moeda ao ar e esta cintilou em tons prateados à luz da lâmpada.
Seichan desistiu, sabendo que não podia adiar muito mais tempo.
— Está bem, eu falo!
— Não faças isso! — gritou-lhe Rachel.
A moeda caiu no chão e saltitou até Pak a pisar com a bota, sorrindo muito divertido.
— Estás a ver... Não foi muito difícil. Diz lá, então.
Ela mudou de tática e contou-lhe a verdade. Como as suas tentativas de ganhar tempo já não davam resultado, o melhor era fazê-los entrar em ação. No decorrer do trajeto, talvez arranjasse maneira de escapar.
— Muito bem — disse Pak, satisfeito consigo mesmo.
Levantou a bota.
A face gorda de Kim Jong-il sorria no chão.
Cara.
— Parece-me que perdeste — disse Pak, fazendo sinal a Ryung.
Este recuou, apontou a pistola ao peito de Rachel e disparou.
O horror e a detonação sobressaltaram Seichan, quase a fazendo derrubar a cadeira em que estava sentada.
Igualmente estupefacta, Rachel olhou para o sangue a ensopar-lhe a camisa — e fitou Seichan.
Seichan olhou embasbacada para Pak, sem conseguir acreditar na traição.
Pak limitou-se a encolher os ombros.
— São as regras habituais da casa — disse ele. — Uma vez as apostas feitas, não se pode voltar atrás.
A cabeça de Rachel tombou-lhe no peito.
Seichan sentia-se desesperada.
Que fiz eu?
09h20
A escuridão fria envolveu-a.
Todas as suas forças se escoavam pelo buraco no peito, roubando-lhe o calor do corpo. A cada respiração, cada vez mais fraca, sentia uma pequena dor, mais espiritual do que física.
Não quero morrer.
Rachel debateu-se, mas não era uma batalha em que os músculos e ossos participassem, mas uma luta de vontade e determinação. Tinha-os ouvido a sair da estalagem, abandonando-a à morte.
Mas Monk viria.
Tal esperança sustinha-a. Sabia que, apesar dos seus consideráveis conhecimentos médicos, ele não conseguiria salvá-la. Agarrava-se a essa frágil tábua de salvação da sua existência com uma única finalidade.
Dizer-lhe onde os companheiros se encontravam.
Despacha-te...
Afundou-se mais na escuridão — uma porta a abrir-se e uns passos apressados retiveram a sua queda no esquecimento.
Uma mão tocou-lhe no joelho.
No fundo de um poço escuro, ouviu palavras ininteligíveis, mas o ânimo percorreu-a.
Onde?
Soltou o último e o mais longo suspiro e disse-lhes, a esperança escorrendo-lhe dos lábios — não por ela nem pelo mundo.
Pensou nuns olhos azuis tempestuosos.
E morreu.
30
20 DE NOVEMBRO, 09H22, IRKST
ILHA OLKHON, RÚSSIA
— Isto é uma loucura! — gritou Duncan.
— É mais rápido! — disse Monk.
E Duncan viu o parceiro lançar-se ao volante do autocarro, inclinando-se ao longo da costa. Derrapou no gelo e quase esbarrou contra uma cabana de pesca, seguindo depois em frente.
Depois do telefonema de Gray, Monk tinha-se apoderado do autocarro, pondo em fuga o motorista e os passageiros. Sentou-se ao volante e dirigiu-se para a ponta sul da ilha, abrindo caminho pelo gelo. Devia ter planeado isto, pois passara grande parte do trajeto a falar com o motorista, fazendo perguntas acerca da espessura do gelo e até onde chegava nesta época do ano.
Duncan entendia o raciocínio do parceiro. Ambos tinham tido muito tempo para estudar o mapa da ilha Olkhon depois de aterraram em Irkutsk. Um mapa topográfico indicava que a estrada da estação do ferry à estalagem da aldeia era toda às curvas e perderiam bastante tempo a percorrê-la.
Além disso, a ilha tinha a forma de uma lua em quarto crescente, curvando para oeste na ponta norte — que era para onde precisavam de ir.
Por conseguinte, o caminho mais curto do ponto A para o ponto B era em linha reta. Atravessando a direito, pelo gelo, levariam metade do tempo a alcançar Gray e os outros.
Ainda assim...
Jada agarrava-se ao assento de olhos esbugalhados.
O gelo rangia sob o peso do veículo e fendas abriam-se após a sua passagem.
Pessoas observavam-nos da margem, apontando para eles.
À distância a que se encontravam, a espessura do gelo era, no melhor dos casos, duvidosa e não se atreviam a abrandar. A velocidade era a sua única esperança.
— Aquilo ali deve ser o cabo Burkhan! — gritou Jada, apontando um promontório rochoso que sobressaía de uma baía arborizada.
Duncan avistou umas casas de madeira agrupadas nessa mesma baía. Devia ser Khuzhir.
— Mais cinco quilómetros! — informou Monk, fazendo um gesto para a direita. — Gray disse que deixaria a moto estacionada no exterior para indicar a localização do túnel. Mantenham os olhos bem abertos!
Duncan passou para o lado direito do autocarro quando Monk começou a aproximar-se da costa, onde, felizmente, o gelo deveria ser mais espesso. Após mais alguns longos e tensos minutos, Jada soltou um berro que o sobressaltou.
— Ali! Ao pé daquele grande rochedo que parece um urso!
Com orelhas redondas e focinho peludo, o rochedo parecia realmente uma cabeça de urso pardo. E, para lá dele, uma forma escura marcava a presença de uma solitária moto com uma pequena bandeira a esvoaçar na parte de trás.
— Tem de ser aquilo — disse Monk.
Ao aproximarem-se mais, distinguiram a entrada de um túnel com inúmeras estalactites penduradas no sopé da falésia. Duncan julgou ver vultos no bosque, mas, com o Sol a elevar-se do outro lado da ilha, tudo por estas bandas era muito sombrio.
Caso houvesse alguém, deveriam ser pessoas que tinham vindo ver o autocarro.
Os pneus guincharam quando Monk travou — ou, pelo menos, tentou.
E o autocarro derrapou de lado, deslizando no gelo.
Chocaram com a moto de lado e empurraram-na à sua frente em direção à entrada do túnel.
Duncan e Jada refugiaram-se no lado oposto do autocarro quando a encosta da falésia veio ao seu encontro.
Mas o veículo parou finalmente a uns dez metros do túnel.
Monk esfregou as palmas das mãos nas calças.
— É a isto que eu chamo estacionamento em segunda fila.
— Ah, sim? — barafustou Duncan.
Saíram todos de roldão para se certificar que estavam no lugar certo antes de descarregar o equipamento.
Gray apareceu a correr do fundo do túnel, atraído pelo barulho. Arregalou os olhos ao ver o meio de transporte que tinham escolhido. Reconheceu certamente o autocarro por causa da viagem que fizera nele do continente até à ilha.
— Então? — perguntou com um sorriso. — Não conseguiram apanhar um táxi?
09h28
Gray deu um rápido abraço a Monk. Até mesmo naquelas circunstâncias e naquele transporte, era bom rever o seu melhor amigo.
Apertou a mão a Jada e apontou um dedo a Duncan.
— Preciso que leves o Olho de Deus para um sítio que descobrimos.
Kowalski está lá dentro e mostra-te. Encontrámos a cruz, mas não temos maneira de saber se está carregada de energia.
— Eu vou com ele — ofereceu Jada.
Gray agradeceu com um movimento de cabeça.
Perguntava a si mesmo por que razão Seichan e Rachel demoravam tanto tempo. Tinha esperado que elas chegassem antes de Monk e os outros.
Jada voltou a entrar no autocarro.
— Esquecime da mochila...
Um silvo agudo trespassou a manhã, seguido de imediato por uma explosão de fogo e gelo. Jada foi atirada de encontro a Duncan. O abalo, acompanhado por uma chuvada de estalactites estilhaçadas, atirou todos para o chão e para o fundo do túnel.
Lá fora, o autocarro estava empinado sobre a grelha da frente e as janelas explodiam. Uma bola de fogo elevou-se no ar seguida de uma nuvem de fumo.
A plataforma de gelo estremeceu e o autocarro afundou-se no lago.
Tinham sido vítimas de um ataque.
Mas quem... e porquê?
Impunha-se, contudo, uma pergunta ainda mais importante.
— Onde está o Olho de Deus? — perguntou Gray, receoso e meio ensurdecido.
Duncan ajudou Jada a levantar-se. Ela apontou para o autocarro destruído a afundar-se no lago.
— A minha mochila...
Tinha ficado lá dentro.
— Toda a gente para trás! — disse Gray, fazendo-lhes sinal para se embrenharem no túnel.
Todos obedeceram e, ao chegar a uma curva, Gray olhou para trás. A traseira carbonizada do autocarro sobressaía do gelo e o fogo espalhava-se pela gasolina e óleo derramados. Sombras moviam-se por trás das chamas.
Quem seriam? Tropas russas? Alguém em Moscovo teria sabido da presença clandestina deles na ilha?
— Fica aqui, Monk — ordenou Gray. — Avisa-nos se eles tentarem entrar aqui.
O que aconteceria, sabia ele.
O alvo de quem organizara este ataque tinha sido o autocarro porque a sua intenção era encurralar o grupo comandado por Gray aqui dentro. Com o tempo a passar, a única coisa que tinha de fazer era recuperar o Olho de Deus e levá-lo para onde tinha deixado Vigor.
Gray conduziu Duncan e Jada até ao fundo da gruta. Kowalski esperava ansiosamente por eles.
— Então, pá! — pôs-se a berrar o grandalhão. — Que raio está a acontecer lá fora?
— Não interessa — ripostou Gray, virando-se para Duncan. — Temos de tirar a mochila da doutora Shaw do autocarro.
— Como? — indagou Duncan.
Gray encarou Jada.
— Achas que podes trepar por aquela corda acima sem ajuda quando chegar a altura devida?
Ela assentiu.
— Que queres que façamos?
Gray explicou-lhes.
— És maluco! — disse Duncan, olhando em redor à procura de apoio.
Kowalski limitou-se a encolher os ombros.
— Já fizemos coisas mais estúpidas.
09h34
Isto está a tornar-se um mau hábito.
De novo em boxers, Duncan estava de pé à beira da água — desta vez um buraco no gelo pelo qual as focas mães deslizavam para dentro e para fora do lago. Imaginava-as a nadar ao longo do túnel por baixo de todo aquele gelo até chegarem à superfície.
Ele não teria de ir tão longe, mas continuava a ser uma grande distância para percorrer de um só fôlego. E também não possuía a gordura que protegia as focas.
E o mesmo se passava com a sua companheira, Jada, vestida apenas de calções e sutiã.
Entretanto, Gray e Kowalski preparavam as motos estacionadas na gruta e verificavam as armas. Apanhariam Monk à saída.
Duncan olhou para Jada, que tremia ao seu lado, mas poucos daqueles tremores se deviam ao frio.
— Estás pronta? — perguntou-lhe.
Ela engoliu em seco e assentiu.
— Põe-te atrás de mim — disse-lhe ele com um sorriso. — Vai tudo correr lindamente.
— Vamos acabar com isto depressa — balbuciou ela. — Pensar no assunto ainda torna isto pior.
Tinha razão.
Duncan ajeitou o coldre à volta do peito nu e apertou ligeiramente o braço de Jada. Agachou-se e deixou-se deslizar pela borda inclinada do buraco.
Mergulhou por baixo da espessa camada de gelo que cobria o chão da gruta.
O frio, pior do que aquilo para que se preparara mentalmente, atravessou-lhe o corpo. Os pulmões gemeram, arquejando e sufocando-o. Obrigou-se a bater as pernas e a movimentar os braços, afastando-se do buraco e dirigindo-se para o túnel. A ideia era nadar por baixo do gelo e sair para o exterior sem ser visto.
Virou-se para trás e viu Jada mergulhar. O seu corpo contraiu-se, pronto a tomar a posição fetal por causa do choque, mas reagiu e, com um golpe de pernas, como um cavalo a dar um coice na porta do estábulo, aproximou-se velozmente dele.
Raios, ela era muito rápida!
Jada tinha declarado isso mesmo quando Gray lhe propusera o plano.
Duncan deu um pontapé numa parede e seguiu ao longo do túnel. A luz difusa dava um tom azul-escuro ao gelo, iluminando suficientemente o fundo.
Teve de se esforçar para se manter à frente de Jada, mas também para aquecer o corpo.
O túnel tinha apenas trinta metros de comprimento, distância que ele podia normalmente percorrer de um fôlego. Mas, preso por baixo do gelo, era um desafio mortal.
Olhando para a luz, percebia o seu progresso. A cada braçada ficava mais brilhante, anunciando a luz matinal do sol lá fora.
No entanto, o frio sabotava-lhe a resistência. Os pulmões doíam-lhe e os membros começaram a tremer. Ao aproximar-se do fim do túnel, via pontos escuros a dançar diante dos olhos. Olhou para trás novamente e viu que Jada também estava a passar por dificuldades.
Continua, disse a si mesmo para animar ambos.
Avistou o objetivo em frente, o que o estimulou a nadar com braçadas mais frenéticas.
O autocarro estava pousado meio torto, mas quase a prumo, no fundo, a dez metros deles. Gray tinha-lhes dito que do exterior se via a parte traseira a sair do lago gelado.
Motivado pela promessa de ar fresco, aproximou-se rapidamente. Como o para-brisas tinha sido destruído no ataque, Duncan não teve dificuldade em agarrar no volante e penetrar no interior, emergindo à superfície da bolsa de ar na parte de trás do autocarro.
Jada surgiu um segundo mais tarde.
Puseram-se ambos a engolir ar às golfadas o mais calmamente possível, apreciando não só o oxigénio como o calor que ali reinava. As chamas que tinham destruído o veículo aqueceram consideravelmente o interior e nenhum deles se queixou.
Duncan ouviu vozes vindas do exterior a falar o que lhe pareceu ser coreano ou talvez chinês. Até àquele momento, a presença de ambos não tinha causado nenhum alarme. O inimigo não esperava, pelos vistos, que eles aparecessem no interior de um autocarro submerso.
Era uma pequena vantagem.
Virou-se para Jada e apontou para baixo. Ela percebeu e ambos mergulharam. Agarrando-se às cadeiras, puseram-se à procura da mochila de Jada.
Tudo o que não estava preso tinha caído para a parte da frente do autocarro ou passara pelo espaço deixado pelo para-brisas. Reabastecida de oxigénio, Jada nadava como uma foca enquanto ele se sentia uma baleia desajeitada. Ela encontrou rapidamente a mochila e voltaram à superfície.
Ao vasculhar o interior, o alívio que iluminou o rosto dela exprimia tudo.
Tinha recuperado o Olho de Deus.
Duncan não resistiu e, impulsivamente, beijou-a. Não sabia se teria outra oportunidade. Investiu imenso naquele pequeno gesto: o desejo de ela permanecer em segurança, um agradecimento pelos seus esforços e, sobretudo, a esperança de mais beijos.
A surpresa deixou-a hirta — mas depois os lábios deixaram de resistir e acabaram por se derreter nos dele.
Ao separarem-se, os olhos dela brilhavam. De certo modo, Jada parecia ao mesmo tempo mais resoluta e mais assustada. Mas fez-lhe uma festa no rosto e tornou a mergulhar.
Duncan aproximou-se furtivamente de uma janela do autocarro e olhou lá para fora. Viu cordas penduradas do alto da falésia e um grupo de homens armados com camuflados que ladeavam o túnel. Contou os soldados que se encontravam entre a baía e o autocarro. A situação não era nada boa.
Tirando a SIG Sauer do coldre, falou para o microfone que tinha junto ao pescoço para Gray.
— Já recuperámos o Olho de Deus — disse. — Há vinte homens à entrada do túnel, dez de cada lado. Creio que são coreanos.
Gray praguejou. Pelos vistos, isto fazia sentido para ele.
— Segue à risca o nosso plano — ordenou Gray a Duncan. — Conta até trinta e desata aos tiros.
Nas presentes circunstâncias, não havia esperança de ganharem.
Mas o plano era bastante simples.
Ganhar o máximo de tempo possível à custa das suas vidas.
Duncan olhou para as águas escuras do lago. Neste momento, o destino do mundo dependia da velocidade com que Jada conseguisse nadar.
31
20 DE NOVEMBRO, 09H44, IRKST
ILHA OLKHON, RÚSSIA
Jada sabia que não ia conseguir.
O medo, o frio e a exaustão tinham-lhe esgotado as forças. E a mochila às costas pesava como chumbo e entravava cada braçada. Mas o pior não era isso.
Um rasto de sangue flutuava como uma bandeira vermelha desfraldada atrás dela. Ao sair do autocarro, uma peça metálica afiada tinha-lhe feito um corte no braço direito que atingira o osso. Esforçava-se por continuar a nadar, mas a dor entorpecia-lhe o corpo.
Tinha de bater os pés com mais força à medida que o braço enfraquecia.
E os pulmões gritavam por ar.
Escurecia à sua volta — não por estar mais longe da luz do sol, mas porque, envolta na escuridão, a sua visão tornava-se mais reduzida.
Distinguiu ao longe uma zona de água mais brilhante, onde uma lanterna, assim como a sua roupa, aguardava junto ao buraco no gelo a sua chegada.
Nunca hei de lá chegar.
E, como prova do que estava a pensar, o seu ritmo abrandou. O braço direito, agora inutilizado, arrastava-se ao lado dela. Desesperada, agitou os pés numa derradeira tentativa.
Um estrondo abalou a água e chegou-lhe aos ouvidos.
Viu uma luz brilhante atravessar o gelo translúcido e passar por ela em direção à entrada do túnel.
Estendeu o braço e apoiou a palma da mão no gelo.
Ajudem-me.
Mas não pararam, abandonando-a.
09h45
Gray conduziu a moto na direção do sol matinal. Monk, contrariado, ia sentado atrás dele, enquanto Kowalski os seguia no segundo veículo. Em frente, a entrada do túnel aumentava de tamanho. Avistou vultos à esquerda e à direita.
Coreanos, dissera Duncan — mas Gray sabia que, na realidade, eram norte-coreanos.
Como tinham conseguido encontrá-los? O receio que sentiu pela sorte de Seichan e de Rachel pôs-lhe o sangue em ebulição. Fora por causa disto que as mulheres ainda não tinham aparecido? Tinham sido capturadas? Lembrou-se da conversa breve e tensa que tivera com Seichan.
Devem tê-la retido à força.
Isso, contudo, não mudava nada.
Os norte-coreanos queriam apanhá-los, a ele e a Kowalski, de preferência vivos.
Pelo menos, ao princípio.
Gray não tinha tantos escrúpulos.
Ouviu os primeiros tiros disparados pela SIG Sauer de Duncan.
Com a atenção do inimigo concentrada na entrada do túnel e a aproximação do ronco das motos, Duncan disparou contra os soldados que se encontravam na retaguarda, apanhando-os desprevenidos.
Gray ouviu gritos de choque e surpresa vindos das fileiras norte-coreanas perante aquele ataque repentino. E Monk levantou-se e disparou por cima do ombro dele, confundindo ainda mais o adversário.
Aproveitando o caos e a hesitação do inimigo, que não sabia como reagir a uma batalha com duas frentes, Gray acelerou a moto na direção do túnel.
Um soldado apareceu-lhes pela frente, apontando uma espingarda.
Mas Monk abateu-o com uma única bala.
Gray desviou-se para a esquerda do corpo e Kowalski para a direita.
Rodopiaram as motos sem as mãos no guiador, disparando para todos os lados. Duncan abriu a pontapé a porta traseira do autocarro e desatou aos tiros lá de cima.
Soldados em camuflado tombaram no gelo ou estenderam-se ao comprido para não serem tão facilmente atingidos.
Mas Gray sabia que o seu grupo estava em inferioridade numérica e tinha menos armas. A situação poderia mudar, em qualquer altura, contra eles. As balas inimigas já começavam a ricochetear perto das motos.
Só tinham um objetivo: ganhar tempo.
Dissera a Vigor para permanecer na câmara do pedestal à espera de Jada a fim de a ajudar, e ele tinha concordado.
Com esse objetivo em mente, continuou a disparar, rezando para que Jada se despachasse.
09h46
Jada fez um derradeiro esforço para alcançar a zona iluminada, nadando com um só braço. Ouvia as detonações atrás dela, enquanto os outros punham a vida em perigo pelo objetivo dela. Tal sacrifício cerrava-lhe a garganta, contrariando o reflexo de respirar, embora os pulmões estivessem a arder. O
resto do corpo estava frio como o gelo e cada vez mais pesado.
Então, algo chocou com ela, sobressaltando-a ao ponto de um rosário de bolhas lhe sair de entre os lábios. Era uma foca castanha, luzidia e macia. Rolou o corpo e voltou atrás, roçando-se por ela e rodando num vaivém de forma convidativa.
Apesar de meio morta de fadiga, Jada entendeu.
Estendeu o braço e agarrou-se à cauda. Assim que lhe tocou, a foca avançou velozmente — quer assustada ou de propósito — arrastando Jada.
Chegaram, em poucos segundos, à zona luminosa e emergiram. Jada arquejou, sorvendo ar. A foca ondulou ao lado dela, mirando-a com os seus brilhantes olhos castanhos como para ver se ela estava bem. Recuperando o fôlego, Jada contemplou o animal com espanto. Devia-se apenas ao seu instinto maternal o ajudar outro mamífero ferido? Ou fora realmente o espírito da ilha, como dissera Temur, que tinha vindo salvá-la?
Fosse o que fosse, Jada agradeceu-lhe em silêncio e a foca agitou várias vezes o focinho no ar antes de tornar a mergulhar.
Nadou depois até à margem, onde Gray deixara uma corda pendurada para a ajudar a subir. Foi depois a gatinhar pelo gelo fora com o sangue a escorrer do braço, para alcançar uns cobertores com os quais se esfregou até ficar seca.
Também havia lá roupa, mas ignorou-a por saber que não tinha tempo para se vestir completamente. Em vez disso, tirou a parca da mochila e vestiu-a.
Tremendo violentamente, voltou a pôr a mochila aos ombros e enfiou-se num arnês de alpinista, puxando-o ao longo das pernas nuas.
Cambaleou em direção à cascata gelada, tentando dominar os seus movimentos. Ao chegar ao sopé, olhou para o comprimento da corda que subia pela encosta de gelo acima.
Agarrou-se a ela e reconheceu de imediato a futilidade de tal gesto. Mal sentia os dedos. E perdia a força a cada tremor.
Mas ouviu tiros.
Os seus amigos não desistiam.
Não posso desistir.
Sabendo que só faltavam dez minutos, trepou até a primeira cavilha e depois até à seguinte. Uma renovada determinação fê-la continuar, mas força de vontade não era a mesma coisa que força nos pulsos.
Tentou segurar-se com o braço ferido — e escorregou, voltando a cair no gelo duro. Ao perceber que nunca conseguiria chegar lá acima, lágrimas de frustração escorreram-lhe pelas faces abaixo.
Nunca vou conseguir.
09h48
Gray reconheceu que a batalha estava perdida.
A surpresa do assalto tinha diminuído com a resistência do inimigo. Uma bala bateu de lado na moto e o ricochete acertou-lhe na coxa, rasgando dolorosamente a carne ao longo da anca.
Fez sinal a Kowalski.
Este apontou a moto em direção ao autocarro enquanto Gray e Monk protegiam a sua retirada, disparando sem cessar.
Kowalski chegou ao gelo quebrado em volta da viatura e, fazendo um pião de cento e oitenta graus, parou mesmo junto à borda.
Duncan saiu pela porta traseira no alto do autocarro e, saltando por cima da água opalescente manchada de gasolina e óleo, aterrou no banco da moto, atrás de Kowalski, o qual arrancou imediatamente em direção do túnel.
Foram perseguidos por balas que ricochetearam nos lados do autocarro e estilhaçaram o gelo.
Monk ripostou enquanto Gray, com uma mão a segurar o guiador da sua moto, disparava com a outra.
Estavam quase sem munições e tinham de enfrentar um derradeiro ataque.
Correu para o túnel em busca de proteção.
E Kowalski seguiu-o, aos tiros.
Monk atingiu a perna de um norte-coreano, fazendo-o tombar. Os outros dispersaram enquanto o grupo de Gray concentrava o fogo na entrada do túnel.
Com o caminho desimpedido, entraram de roldão. Correram dez metros e depois derraparam de lado, todos ao mesmo tempo.
Ao pararem, procuraram um abrigo temporário, entrincheirando-se atrás dos veículos estacionados.
Gray abrangeu rapidamente a situação. Kowalski sangrava do ombro e do flanco. Duncan tinha uma ferida com mau aspeto na face. Monk apertava com a mão uma perna e o sangue escorria por entre os dedos.
No entanto, todos pareciam prontos a dar luta para permitir que Jada e Vigor concluíssem o seu trabalho. Infelizmente, restavam-lhes poucas balas.
Teriam de fazer com que bastassem.
Como ciente disso, o inimigo reagrupava-se para o assalto final.
De pistola em punho, Gray aguardou a carga.
Um norte-coreano corpulento segurava Seichan pelo pescoço, usando-a como escudo humano. Apontava-lhe uma pistola à cabeça e ela parecia completamente derrotada.
— Rendam-se! — soou uma voz familiar. — Saiam daí com as mãos no ar ou damos cabo dela. Como matámos a outra mulher...
O plano que Gray maquinava explodiu-lhe na cabeça ao ouvir a última frase...
... matámos a outra mulher.
Monk agarrou-lhe o braço, tentando apaziguar a dor do companheiro, mas ele mal sentiu os seus dedos.
Rachel...
Recordações fixas no tempo passavam-lhe pela cabeça: os olhos cor de caramelo, a maneira como afastava o cabelo do rosto quando se zangava, a suavidade dos seus lábios, a forma como ria quando era apanhada desprevenida...
Como podia tudo isso ter desaparecido?
— Gray? — sussurrou Monk, chamando-o de volta à realidade.
A raiva subia no peito de Gray, cegando-o.
Pak surgiu de repente ao fundo do túnel por trás do coreano alto: — Saiam agora e serão poupados!
O tom triunfante da voz daquele miserável inseto despertou Gray. Ainda precisavam de ganhar tempo para salvar o mundo, mas ele tinha mais outro objetivo: vingar Rachel.
— Que queres que façamos? — perguntou Duncan com a pistola na mão.
Gray pensou em mandá-lo ajudar Jada, mas Pak notaria que faltava um deles e iria à procura de Duncan.
— Façam o que ele diz — respondeu friamente Gray, forçando-se a mexer os lábios. — Dar-nos-á mais tempo.
Sem mais uma palavra, atiraram as armas para o chão. E estas foram a deslizar pelo gelo fora até à saída do túnel.
Gray ergueu-se com as mãos no alto da cabeça.
Os outros imitaram-no, passando por cima da barreira de veículos.
Convencido da sua vitória, Pak mostrou-se finalmente quando eles se aproximaram. Sentia-se à vontade o bastante para acender um cigarro e apontar a ponta incandescente em direção de Gray.
— Tu e eu vamo-nos divertir à brava.
Gray conteve-se e não respondeu, tentando manter o outro a falar em vez de entrar no túnel.
Não fazia ideia se Jada tinha conseguido subir a cascata congelada, mas a corda ainda lá estava e o inimigo descobriria assim o caminho.
Por conseguinte, limitou-se a lançar um olhar de ódio ao norte-coreano.
Ao chegarem ao fim do túnel, Gray viu inúmeros corpos caídos no gelo.
Tinham liquidado pelo menos metade das tropas de Pak. E havia ainda alguns feridos a sangrar aqui e ali.
Sentiu-se satisfeito.
Reparou numa figura familiar, à esquerda, afastada dos outros.
Ju-long Delgado.
Este lançou um olhar a Gray e depois baixou os olhos, fitando os sapatos, claramente embaraçado pelo papel que desempenhava nesta situação.
Era bastante lamentável.
Não reparou num vulto esguio que, descendo por uma das cordas, aterrou silenciosamente atrás dele — nem viu o clarão prateado quando a espada o trespassou por trás.
Ju-long caiu de joelhos, soltando um gemido de surpresa. Então, Guan-yin mostrou-se a todos, a tatuagem do dragão a brilhar na face, flamejante de fúria.
Empunhou uma arma e desatou aos tiros.
Outros vultos começaram a deslizar pelas cordas abaixo, disparando enquanto desciam.
Era a tríade chinesa.
Boquiaberto, Gray não conseguia perceber como Guan-yin os tinha encontrado, mas tais perguntas não poderiam ser respondidas naquele momento.
Aproveitando-se da distração causada pela mãe, Seichan pisou com toda a força o pé do homem que a segurava. Apesar de o endurecido militar ser demasiado profissional para a largar, permitiu que ela se esgueirasse por baixo do seu braço.
Seichan fitou então Gray e este correu ao seu encontro. O homem disparou contra ele, mas Gray deixou-se cair deslizando no gelo e, apesar das balas que choviam à sua volta, agarrou na primeira arma que lhe veio à mão.
Ao chegar aos joelhos do norte-coreano, ergueu-se com um afiado pedaço de gelo na mão. Este passou de raspão por uma orelha de Seichan e foi cravar-se no pescoço do seu captor.
O soldado cambaleou, recuando com as mãos agarradas à garganta ensanguentada.
Gray virou-se a seguir para Duncan.
— Vai ajudar Jada! — disse-lhe.
Faltava somente um punhado de minutos.
09h53
Inflamado, Duncan desatou a correr, abandonando as motos. Saltou por cima delas, tentando manter-se na neve seca e evitar o gelo escorregadio.
O tiroteio prosseguia, mas os recém-chegados estavam rapidamente a dominar as tropas norte-coreanas.
Duncan chegou à gruta em poucos segundos e viu Jada, claramente em dificuldades, empoleirada a meio da parede gelada. Agachado no túnel que passava por cima dela, o monsenhor tentava puxá-la, mas não tinha força suficiente.
Ao precipitar-se na direção deles, Duncan reparou no rasto de sangue que se estendia do buraco no gelo à encosta da falésia. Ainda mais sangue escorria da cascata gelada, acrescentando listas vermelhas ao azul.
— Aguenta-te! — gritou Duncan a Jada.
— Que achas tu que estou a fazer? — respondeu-lhe ela com irritação e alívio.
Duncan foi a correr soltar a corda.
— Vou içar-te até cá acima.
Puxou-a com força, arrastando o corpo dela até à boca do túnel. Uma vez lá em cima, Vigor ajudou-a a chegar ao interior. Ambos pareciam esgotados.
— Continuem! — gritou-lhes Duncan, enquanto Jada se soltava do arnês. — Estou mesmo atrás de vocês.
Sem fôlego para falar, Jada limitou-se a acenar-lhe com a mão.
Os dois desapareceram enquanto ele montava a corda e se preparava para escalar a encosta.
09h54
Finalmente livre, Seichan afastou-se do guarda abatido. Ouviu Gray gritar a Duncan e deteve-se apenas o tempo necessário para apanhar a arma abandonada de Ryung, a mesma pistola que ele tinha usado para assassinar Rachel.
Passou por cima do corpo inerte do militar e foi atrás do único alvo que interessava.
Ao primeiro sinal de sarilhos, Pak fugira, tentando refugiar-se no autocarro meio submerso. Empunhava uma pistola e, em pânico, disparava às cegas. O
caos e a repentina mudança de fortuna assustavam-no, mas, como jogador, deveria saber que a sorte não dura sempre.
Seichan pôs-se ostensivamente a persegui-lo.
Logo que o viu, apontou a pistola e disparou.
Nem se dava ao trabalho de se desviar dos tiros que choviam à volta dela.
Em vez disso, tornou a levantar a arma e premiu o gatilho.
A bala perfurou-lhe o joelho. Pak estatelou-se ao comprido com um grito, deslizando depois de barriga, a rodopiar. Ao aproximar-se do gelo quebrado à volta do autocarro, não conseguiu parar e caiu dentro de água.
Seichan avançou até à borda e ficou a vê-lo esbracejar. Sabia que, como ele estava ferido no joelho, cada movimento das pernas para se manter a flutuar devia ser uma autêntica agonia.
Pak tentou agarrar-se à margem gelada, mas estava demasiado escorregadia.
Acabou por encontrar apoio, enfiando a mão numa fenda de uma parte do autocarro presa no gelo. Infelizmente, o seu enorme volume moveu-se ligeiramente e entalou-lhe os dedos. Desatou aos gritos, debatendo-se para libertar os quatro dedos esmagados.
A mãe de Seichan já cobrara uma percentagem para pagar uma dívida de jogo. Pak devia a Seichan muito mais do que isso.
— Ajudem-me! — gemeu Pak, batendo os dentes de frio.
Seichan debruçou-se e viu a esperança brilhar nos olhos do cientista norte-coreano.
Pegou no cigarro que tinha tombado dos lábios quando ele caíra na água e soprou na ponta até esta ficar incandescente.
O horror substituiu a esperança. Como ela, Pak devia ter sentido o cheiro a gasolina e óleo derramados que formavam uma espessa camada na água.
— Está frio, não está? — perguntou-lhe ela. — Deixa-me aquecer-te.
Atirou o cigarro. Uma chuva de cinzas incendiou primeiro os vapores e de seguida o óleo e a gasolina. As chamas atravessaram a água azul, envolvendo Pak.
Seichan voltou as costas aos seus gritos e afastou-se, deixando-o arder por cima e gelar por baixo.
É a paga pela Rachel!
32
20 DE NOVEMBRO, 09H55, IRKST
ILHA OLKHON, RÚSSIA
Ju-long estava estendido no gelo, o sangue formando uma poça quente à volta dele.
O filho da mãe merecera um fim cruel.
E talvez eu também.
Como chamado pelos seus pensamentos, um rosto debruçou-se sobre o dele com uma expressão impiedosa, apesar do nome dela.
— Guan-yin... — murmurou ele. Ergueu a mão trémula para ela, mas, sem forças, deixou-a cair. — O Pak... sequestrou a minha mulher... e o meu filho ainda por nascer.
A expressão dela permaneceu impassível, dura como as escamas do dragão tatuado no seu rosto, sem aceitar desculpas.
— Lamento — acrescentou ele em voz ofegante, sentindo o sabor a sangue nos lábios. — Amo-os tanto... Ajuda-os, por favor...
— Por que razão devo eu ajudar-te depois do que fizeste?
— Tentei... como podia... ajudar...
Uma única ruga vincou-lhe a testa.
— Como achas que nos encontraste? — arquejou com um esgar de dor. — Como nos seguiste, a mim e ao Pak, até esta ilha?
— Assim como tu, tenho ouvidos por toda a parte. Disseram-me que tinham partido da Coreia do Norte e se encontravam na Mongólia. E, por conseguinte, segui a vossa pista. Sabia que ainda devias andar atrás de...
Ele cortou-lhe a palavra: — E quem julgas que falou com muitos desses teus ouvidos? Eu disse-lhes para te avisarem.
Era verdade. Ju-long tinha de se mostrar discreto junto de Pak. A pretexto de monitorizar o dispositivo de localização do assassino, tinha telefonado regularmente para Macau e tratado desse assunto de longe. Embora não pudesse reunir o seu bando sem alertar os norte-coreanos e pôr em risco a vida da mulher, conseguiu reunir um outro, atiçando o ódio de Guan-yin ao lançá-la em sua perseguição.
Lembrou-se da surpresa que sentira quando a espada lhe trespassava o peito.
Pelos vistos, atiçara esse ódio bem de mais.
Um pequeno erro de cálculo.
— Atraí-te aqui para matares o Pak e me libertares — disse com uma pequena gargalhada cheia de sangue. — Talvez também para pôr fim às nossas desavenças.
Tudo o que interessa agora é a minha linda Natalia... e o filho que nunca verei...
Guan-yin endireitou-se e Ju-long percebeu que ela acreditava nele. Mas bastaria para o ajudar? Ela não era muito conhecida pela sua clemência.
— Hei de encontrá-los — prometeu finalmente. — E protegê-los.
Uma furtiva lágrima de gratidão rolou pelo rosto dele. Sabia que podia contar com ela.
Obrigado.
Fechou os olhos, aliviado... mas ainda viu surgir outro rosto junto do de Guan-yin. Era o da bela assassina que tinha causado tantos sarilhos.
E só então notou que, ao lado uma da outra, eram muito parecidas.
Mãe e filha.
Entendeu então porque se enganara. No fim de contas, nunca tinha sido por causa de dinheiro ou de território — apenas família.
Não admirava portanto que ela o tivesse apunhalado.
Reconhecendo que cometera um erro, o seu riso silencioso acompanhou-o até se dissipar no esquecimento.
09h56
— Então foi assim que nos encontraste — disse Gray, que, por trás de Seichan e da mãe, tinha escutado a conversa.
Protegera-as de arma em punho enquanto Monk e Kowalski ajudavam a tríade a resolver a situação.
Guan-yin levantou-se.
— Sim, mas as últimas notícias que tivemos diziam que Ju-long estaria numa pousada em Khuzhir.
Gray percebeu o que se passara. Ju-long não devia ter tido tempo de avisar os espiões dele antes de vir para aqui.
— Então como vieste parar a este lugar?
Uma expressão triste toldou-lhe as feições.
— Encontrámos uma mulher baleada, mas ainda viva. Foi ela quem nos disse.
Rachel...
Guan-yin viu um raio de esperança iluminar-lhe o rosto e interveio.
— Infelizmente, ela não sobreviveu. Mas foram as suas últimas palavras que nos trouxeram aqui.
E salvaram-nos a todos, pensou Gray. E talvez o mundo.
Guan-yin tocou no braço dele.
— Penso que ela só estava à espera de comunicar essa mensagem para morrer.
O pesar rasgou-lhe as entranhas, mas ele reteve-o até mais tarde.
Isto por o assunto ainda não estava terminado.
Dirigiu-se para o túnel.
Além de salvar o mundo, tinha outra coisa para fazer, mais próxima do seu coração. Vigor merecia saber o que tinha acontecido à sobrinha, embora isso pudesse vir a destroçá-lo.
09h57
— E Rachel? — inquiriu o monsenhor.
Duncan viu a esperança relampejar nos olhos do velhote ao entrarem na câmara de ouro. Jada coxeava do outro lado de Vigor, olhando para Duncan com igual expectativa.
Depois de escalar a queda-d’água congelada, ele encontrara-se com Jada e Vigor no pequeno tanque da antecâmara que conduzia ao ger de ouro.
Duncan explicou o melhor que podia enquanto subiam as escadas. Tinhalhes contado acerca da chegada da tríade, os seus novos aliados, coisa que ainda o espantava, mas não sabia como dizer a verdade.
— Rachel foi morta — acabou por balbuciar, não vendo maneira de atenuar a notícia.
Vigor deteve-se a meio das escadas, fitando-o, horrorizado, sem poder acreditar.
— Não...
A dor fê-lo tombar de joelhos. Jada empurrou Duncan na direção da pilha de rochas no meio da câmara.
— Verifica a cruz — cochichou, pousando a mochila para tirar o Olho de Deus. — Mas não lhe toques.
Ele percebeu. Precisavam de confirmar que se tratava do artefacto que procuravam. Precipitou-se para onde estavam as três caixas: de ferro, prata e ouro. Um crânio estava caído no chão de ouro junto do monte de pedras.
Sem mexer na relíquia, olhou para o fundo da caixa de ouro. Uma cruz preta que encaixava perfeitamente num apoio de ouro encontrava-se no interior.
Estendeu a mão, mas antes mesmo de tocar na caixa de ferro, sentiu os ímanes nas pontas dos dedos reagirem. Havia uma pressão, como se uma força lhe resistisse. Enfiou a mão mais fundo, aproximando os dedos da superfície escura.
Reconheceu a mesma sensação anormal e viscosa da energia, mas, quando as pontas dos dedos ficaram a um milímetro da cruz, notou uma diferença subtil.
Reconheceu essa energia, a qual, embora sendo quase idêntica à dele, tinha um sabor diferente.
Ou cor.
Não conseguia descrevê-lo de outra maneira.
Quando tinha agarrado no Olho de Deus, sentira negrura, como a escuridão entre as estrelas, bela por direito próprio.
Neste caso, só podia exprimir a energia como branca.
Jada tinha dito que a cruz e o Olho de Deus eram opostos, quanticamente diferentes um do outro, polos separados num eixo de tempo.
Mas havia outra diferença fundamental.
A energia do Olho de Deus repelia-o.
E, com a cruz, tinha de fazer um esforço para não lhe tocar. Era quase irresistível. Apesar do aviso de Jada, a ponta do dedo indicador tocou na sua superfície.
A brancura envolveu-o, cegando-o.
Por causa da sua formação em Física, sabia que os buracos negros sorviam a luz enquanto, teoricamente, os buracos brancos lançavam tudo para fora.
Era assim que se sentia neste momento, projetado, lançado para outro lugar e, possivelmente, para outro tempo. Naquela claridade, viu aproximar-se uma figura envolva em sombras. Como um espelho baço de si mesmo, o vulto estendeu o braço para a sua mão estendida, como se também quisesse apoderar-se da cruz.
Quando os dedos de ambos se tocaram, Duncan foi atirado para trás.
Viu-se de novo na câmara. Isto passou-se de modo tão instantâneo que cambaleou, abrindo e fechando a mão.
— Que foi? — perguntou Jada.
Ele abanou a cabeça.
— Tem... tem energia.
Afastou-se do pedestal, mas reparou novamente no crânio caído no chão e veio-lhe à cabeça a figura envolta em sombras.
Será que...
Sem querer pensar em tal possibilidade, aproximou-se de Jada.
— Que temos de fazer?
— Creio que é só encostar o Olho de Deus à cruz. Juntar as suas energias opostas pode quebrar essa combinação quântica e dar origem a uma destruição total.
Duncan reviu o campo de energia a esmorecer.
— Está bem — disse ele, estendendo a mão para pegar no Olho de Deus. — Vamos lá fazer isso.
Jada ergueu a esfera, mas de repente afastou-a da mão dele.
— Então?...
Ela lançou um olhar em volta.
— Julgo que primeiro temos de selar a câmara. O ouro é um dos metais mais não reativos. O ouro puro nem sequer perde o brilho.
— Enquanto a prata e o ferro, sim — disse Duncan.
— Se calhar os antigos sabiam que tal insulamento era importante — alvitrou Jada. — De qualquer modo, sentir-me-ia mais segura se ninguém entrasse nesta câmara depois de ser selada. Pode ser perigoso permanecer aqui quando essas duas forças se entrechocarem.
— É melhor, então, que tu e o monsenhor saiam e fechem a porta.
— Talvez seja preferível ser eu a fazer isto — contestou Jada. — Sou menos sensível a essas energias do que tu.
Mas Duncan não consentiu que ela corresse esse risco.
O impasse foi decidido por uma terceira pessoa.
Vigor levantou-se e agarrou no Olho de Deus, afastando-se depois. Duncan tentou detê-lo, mas o monsenhor levantou um braço e apontou para ele com um dedo.
— Vá-se embora! — disse em tom de comando, mas, ao mesmo tempo, pesaroso.
Duncan compreendeu que Vigor não desistiria.
Jada olhou para o relógio e puxou-o pela manga em direção à porta.
— Alguém tem de o fazer e já não temos muito tempo.
Com o coração pesado, Duncan fugiu da câmara com Jada. Quando começaram a fechar a porta, viu Vigor aproximar-se do pedestal de ombros caídos e uma expressão de sofrimento estampada no rosto.
Seja qual for o resultado... obrigado, velhote.
09h59
Vigor postou-se diante do relicário de São Tomé, segurando nas mãos uma esfera de cristal que continha os fogos do universo. No interior das três caixas estava pousada uma cruz forjada entre as estrelas e usada por um santo. Deveria sentir-se exultante, privilegiado por lhe ser permitido presenciar este momento sagrado no fim da vida.
Mas apenas se sentia perdido.
Tinha feito preparativos para a sua morte, tomando decisões que beneficiariam Rachel. Talvez parte da sua paz interior fosse orgulho egoísta, sabendo que seria recordado e que ela falaria aos filhos, e até mesmo aos netos, acerca do tio Vigor e das aventuras que tinham partilhado juntos.
Tinha vontade de amaldiçoar Deus, mas, ao fitar a cruz, sentiu-se reconfortado. Sabia que iria tornar a ver Rachel. Tinha a certeza disso.
— Não duvido — murmurou.
Recitou uma curta oração em silêncio.
Não tinha tempo para mais.
Mas não era esse o lamento habitual à hora da morte? Lamentar o que nunca aconteceria, o carácter definitivo da morte, a grande destruidora de possibilidades.
Suspirando, reviu todos os seus amigos, velhos e recentes.
Gray e Monk, Kat e Painter, Duncan e Jada.
Rachel tinha-se sacrificado para os manter em segurança e permitir-lhes que vivessem plenamente a vida, embora a dela tivesse sido curta.
Poderia eu fazer menos?
Vigor ergueu o Olho de Deus e depositou-o onde a relíquia de São Tomé repousara mil anos. Cabia perfeitamente entre os minúsculos pilares de ouro que suportavam o crânio... como se o Olho de Deus sempre devesse permanecer ali.
Mas quando a esfera tocou na cruz...
10h00
Duncan arquejou, tropeçando para trás como açoitado por uma forte rajada de vento — só que nunca tropeçou realmente.
A sua consciência esvaiu-se pela parte de trás do crânio e, por uns instantes, deu por si a fitar o seu próprio corpo por trás, de pé ao lado de Jada e ambos em frente das portas.
Depois voltou a si. Foi tão inesperado que teve de se apoiar na ombreira da porta para não cair.
Jada olhou para ele.
— Estás bem?
— Fiquei de repente satisfeito por não estar lá dentro.
— Que aconteceu?
Tentou explicar a experiência vivida fora do seu corpo.
Em vez de se mostrar incrédula, Jada assentiu.
— A explosão provocada pelo confronto de energias talvez tenha criado uma bolha quântica que afetou fisicamente uma pessoa com a tua sensibilidade e uma consciência muitíssimo recetiva.
— E o que achas que aconteceu a quem se encontrava no interior da câmara?
10h01
É uma boa pergunta, pensou Jada.
E assustadora.
Sobretudo depois de ouvir o relato da experiência que Duncan tinha vivido.
— Não sei — acabou por admitir no que se referia a Vigor. — Nada ou tudo.
Como lançar uma moeda ao ar...
Jada percebeu que Vigor se encontrava na situação do gato de Schrödinger.
Desde que a porta se mantivesse fechada, ele estaria simultaneamente vivo e morto. Só quando a abrissem saberiam ao certo.
Imaginou o universo a dividir-se, dependendo da resposta.
Duncan estendeu a mão para a porta, mas, antes de a poder abrir, um alvoroço atrás dele atraiu-lhe a atenção. Gray saiu a rastejar do túnel, avistou-os e precipitou-se para as escadas.
Abarcou imediatamente a situação e notou quem faltava.
— Onde está Vigor? — perguntou.
Jada virou-se para a porta selada.
— Foi ele quem quis juntar o Olho de Deus à cruz.
— E conseguiu-o?
— Conseguiu, sim — afirmou Jada.
A dúvida espelhou-se no rosto de Gray.
— Como podes ter a certeza?
Duncan esfregou as costas da mão, como para ter a certeza de que ainda a tinha.
— Temos, sim.
Gray avançou para a porta.
— Então vamos lá entrar.
Jada pôs a mão no fecho, sentindo-se bruscamente idiota, como se, impedindo a entrada de Gray, o destino de Vigor permanecesse indeciso.
— Há uma forte possibilidade de ele não ter sobrevivido — avisou Duncan, tentando preparar Gray para essa eventualidade.
Jada fez um movimento com a cabeça e tirou a mão do fecho.
Mas Gray precipitou-se e abriu a porta.
10h02
Gray penetrou na câmara de ouro e achou-a pouco mudada. Os vastos murais que descreviam a vida de São Tomé permaneciam intactos. A pilha de pedras mantinha-se erguida no meio da sala e as caixas continuavam em cima do pedestal.
Só que agora Vigor jazia no chão com a cabeça pousada na relíquia de São Tomé.
Gray correu para ele e tocou-lhe no corpo.
O homem não se mexeu.
Os seus dedos tatearam-lhe a garganta, mas não sentiu qualquer palpitação.
O coração tinha parado.
Oh, meu Deus, não...
As lágrimas marejaram-lhe os olhos.
Fitou o rosto do monsenhor, reparando na expressão calma de uma morte em paz.
— Ele soube o que aconteceu à Rachel? — perguntou Gray sem desviar o rosto.
— Soube, sim — respondeu Duncan em voz rouca.
Gray fechou-lhe os olhos, rezando para que voltassem a encontrar-se. Tal pensamento reconfortou-o e tudo o que necessitava era que se confirmasse.
Sejam felizes, meus amigos.
Manteve-se debruçado sobre Vigor durante algum tempo.
Duncan aproximou-se das caixas. Passou a mão por cima da esfera e examinou a cruz. Abanou finalmente a cabeça e declarou.
— A energia desapareceu.
Significava isso que tinham sido bem-sucedidos?
Gray tinha uma pergunta mais importante a fazer.
— Agimos a tempo?
Jada consultou o relógio.
— Não sei. Foi tudo à tangente. Tanto pode ter ido para um lado como para o outro.
33
21 DE NOVEMBRO, 01H08, EST
WASHINGTON, D.C.
Painter aguardava com os outros no National Mall. O presidente e os principais membros do governo tinham sido evacuados. As áreas litorais estavam fortificadas e em segurança. Até mesmo Monk e Kat tinham levado as filhas para passarem umas curtas «férias» na região amish da Pensilvânia, longe da potencial zona de explosão.
Apesar de esse potencial não ser muito elevado, ninguém desejava correr quaisquer riscos.
Até a sua noiva, Lisa, tinha sugerido regressar mais cedo do Novo México para estar com ele, mas Painter desencorajara-a.
Havia ordens para a evacuação de Washington, D.C., ser voluntária e, assim como Painter, nem toda a gente tinha abandonado a capital. Uma grande multidão apinhava-se no National Mall. Do outro lado dos relvados, montaram-se tendas, acenderam-se velas e bebeu-se muito álcool. Cânticos, juntamente com orações e gritos de protesto, chegavam-lhe aos ouvidos.
Da escadaria do Smithsonian Castle, Painter observava a grande massa de humanidade de rosto levantado para o céu — uns poucos com medo, mas a maioria maravilhada. Nunca apreciara tanto os seus semelhantes como neste momento. Os melhores traços de carácter da humanidade, curiosidade, temor e veneração, estavam aqui contidos, tornando cada um mais pequeno perante o que estava prestes a acontecer, mas muito, muito maior por fazer parte disto.
Um ruído de passos chamou-lhe a atenção. Jada e Duncan atravessavam a rua a correr. Notou que estavam de mãos dadas — embora as separassem ao aproximarem-se.
Não fez nenhuma observação acerca disso.
— Não me diga que as estimativas do Space and Missiles Center mudaram de repente?
Jada sorriu.
— Passo o tempo a telefonar-lhes para verificar — disse, mostrando-lhe o telemóvel. — Até agora confirma-se que o Apophis vai chocar contra a Terra.
Mas apenas de raspão, no pior dos casos. Ainda assim será espetacular.
Ótimo.
Painter reviu as cenas de destruição que as imagens do satélite mostravam.
Separando o entrelaçamento quântico que puxava a corona de energia negra do cometa IKON para a Terra, tinham eliminado a distorção espaço-tempo à volta do planeta, impedindo um catastrófico bombardeamento de asteroides.
Lembrou-se da Antártida, do que podia ter sucedido em todo o mundo. Esse acontecimento causara a morte de oito marinheiros, número que teria sido muito maior não fosse a bravura e o engenho do tenente Josh Leblang, que tinha heroicamente salvo os seus homens. Painter estava a pensar convidá-lo para fazer parte da Sigma. O rapaz tinha grande potencial.
No entanto, não se encontravam de todo fora de perigo — o que fora ativado pela passagem do cometa não podia ser detido. Uns meteoros tinham caído no interior remoto da Austrália, mais no Pacífico. Outro bastante grande caíra nos arredores de Joanesburgo, mas o impacte pouco mais fez do que assustar os animais de um jardim zoológico ali por perto.
O perigo maior continuava a ser o asteroide Apophis. Já saíra da sua trajetória habitual e nada poderia ser feito quanto a isso. A Sigma conseguiu cortar a conexão quântica porque interveio a tempo. No final, contudo, demorou a impedir que o Apophis chocasse com a Terra, mas, pelo menos, chegou a tempo para não deixar que o asteroide, influenciado pelo cometa, tomasse a direção da Costa Leste. Em vez disso, o seu rumo foi alterado.
A sua trajetória corrente era pelas camadas superiores da atmosfera, onde grande parte da sua energia cinética se esgotaria. Também havia grandes possibilidades de explodir, mas os destroços não se despenhariam na Costa Leste e iriam chover no oceano Atlântico.
Ou, pelo menos, assim se esperava.
Painter procurou sinais de inquietação no rosto de Jada, quaisquer dúvidas quanto aos seus cálculos, mas tudo o que detetou foi alegria.
Depois, ela desviou o rosto do céu.
Outra figura apareceu a correr na rua e a acenar-lhes com a mão. Era uma negra alta de calças de ganga, ténis e um pesado blusão aberto a esvoaçar por causa da pressa com que vinha.
Ao reconhecer a mulher que chegava atrasada, Painter sorriu. Merecia realmente estar aqui.
01h11
— Mamã! — exclamou Jada, abraçando a mãe. — Conseguiste chegar!
— Não iria faltar — disse ela, resfolgando pesadamente pois tinha atravessado quase todo o Mall a correr para chegar a tempo.
Jada encostou-se à mãe, agarrando-lhe na mão.
Ambas fitaram o céu noturno. Como o tinham feito tantas vezes no passado estendidas num cobertor a ver as Perseidas ou as Leónidas. Tinham sido esses momentos que a levaram a querer estudar as estrelas e a fazer parte delas. Jada não seria quem era sem a inspiração da mãe.
Dedos apertaram ternamente os dela, cheios de alegria e orgulho.
— Aí vem! — sussurrou Jada.
Mãe e filha contemplaram o céu agarradas uma à outra, Um rugido elevou-se a leste e uma densa bola de fogo surgiu, atravessando a arder o mundo, deixando um rasto de luz e energia e largando as forças do universo. Passou lá em cima, silenciando a multidão na sua feroz trajetória — e depois ouviu-se o estrondo da sua passagem, que soou como se a Terra se fendesse. Houve quem caísse ao chão, as janelas da cidade estilhaçaram-se e as sirenes uivaram.
Jada manteve-se de pé junto da mãe, ambas seguindo com um sorriso a estrela flamejante precipitar-se rumo a leste — onde explodiu na linha do horizonte num clarão ofuscante, projetando rochas em fogo e desaparecendo ao longe.
Um segundo estrondo ecoou.
E depois a noite voltou a escurecer, deixando o cometa a brilhar no céu.
Enquanto o contemplavam, uma centena de estrelas cadentes cintilou e passou velozmente, o último «hurra» dos céus.
A multidão gritou e aplaudiu.
E Jada, com lágrimas nos olhos, deu por si a fazer o mesmo, acompanhada pela mãe.
Uma frase de Carl Sagan veio-lhe então à lembrança.
Somos feitos da matéria das estrelas. Somos uma forma de o cosmo se conhecer a si mesmo.
Isto nunca pareceu mais verdadeiro do que nesse momento.
34
25 DE NOVEMBRO, 11H28, EST
WASHINGTON, D.C.
Duncan estava sentado no banco com a camisa no colo.
A agulha do aparelho de tatuagem queimou-lhe o braço onde os tríceps formavam uma musculosa ferradura. Tendo em conta o desenho que traçavam na carne, a dor não deixava de ser apropriada.
Era um minúsculo cometa em chamas com uma longa cauda curva. A imagem tinha um estilo ligeiramente asiático e lembrava a que estava gravada a ouro no lago Baical, por cima do imperador chinês que oferecia uma cruz a São Tomé.
Um enxame de arqueólogos e especialistas religiosos esquadrinhavam a gruta na ilha Olkhon. A sua descoberta não fora revelada ao grande público por causa da quantidade de ouro que se encontrava lá dentro, isto para não mencionar as doze coroas ornamentadas de joias provenientes das conquistas de Gengis Khan. Duncan esperava que o sítio se tornasse um novo santuário de cristãos e mongóis.
O Vigor teria muito orgulho, pensou.
Mediante o seu sacrifício para salvar o mundo, tinha renovado a fé de milhões de crentes.
Clyde fez uma pausa, passando um pano ensanguentado por cima do mais recente acréscimo à tapeçaria que cobria o corpo de Duncan.
— Parece-me bem.
Contorcendo-se para ver a tatuagem ao espelho, Duncan examinou-a e deu a sua opinião.
— Parece-me fantástica!
Clyde encolheu modestamente os ombros.
— Já ganhei prática com a primeira.
E fez um gesto na direção de um banco onde Jada estava sentada.
Ela pôs o braço nu ao lado do dele para comparar os dois trabalhos. Eram iguais, uma homenagem à aventura que tinham vivido juntos.
Só que esta era a primeira tatuagem dela, as primeiras pinceladas numa tela branca.
— Que achas? — perguntou ele.
Jada sorriu-lhe.
— Adoro.
E, pela expressão nos seus olhos, talvez não se referisse apenas à tatuagem.
Saíram do armazém e dirigiram-se para o parque de estacionamento, onde o Mustang Cobra R de Duncan brilhava ao sol do meio-dia como um pedaço de sombra polido. O carro era um símbolo do seu passado, perseguido por recordações do irmão mais novo, Billy, uma mistura indistinta de alegria e pesar — e também de responsabilidade.
Eu sobrevivi e ele morreu.
Duncan sempre sentiu que tinha de viver por ambos, por todos os amigos cuja vida fora brutalmente interrompida.
Depois de abrir a porta para Jada entrar, sentou-se ao volante. Mal tocou na alavanca das mudanças, sentiu logo uns dedos mais suaves pousarem-se nas costas da mão. Lançou um olhar para o lado e viu os olhos de Jada a cintilar, cheios de promessas mudas.
Lembrou-se do que ela lhe contara nas montanhas, acerca de destinos emaranhados, da noção de que a morte é apenas a derrocada de um potencial de vida num determinado momento e que outra porta se pode abrir, permitindo que a consciência flua numa nova direção.
Se assim é, talvez não tenha de viver todas essas vidas...
Inclinou-se e beijou-a, reconhecendo que, ao tentar viver tantas vidas, não estava a viver a dele.
— Que velocidade atinge este carro? — murmurou ela com uma maliciosa sobrancelha levantada, quando os seus lábios se separaram.
Ele meteu uma mudança e arrancou como um foguete ao longo de ruas ensolaradas. Já não era perseguido pelos fantasmas do passado, mas movido em frente pela promessa do futuro.
Neste mundo, uma vida basta a qualquer homem.
16h44
— Obrigado pela boleia — agradeceu Gray, pondo o saco ao ombro ao sair do SUV.
Kowalski levantou um braço e, sem tirar o charuto da boca, debruçou-se à janela do carro.
— Era uma excelente rapariga — disse em tom sincero e inabitualmente sério. — Não será esquecida. Nem ela nem o tio.
— Obrigado — repetiu Gray, fechando a porta.
Kowalski despediu-se com uma pequena buzinadela e voltou a meter-se no tráfego, quase chocando com um autocarro.
Gray atravessou a rua em direção ao seu apartamento. A neve tornava tudo prístino, virginal, e ocultava a sujidade da vida sob um manto branco.
Tinha chegado de avião há uma hora do funeral na Itália, onde se prestara homenagem a Vigor numa cerimónia na catedral de São Pedro. O enterro de Rachel tinha contado com a presença dos carabinieri, e o seu caixão, coberto com a bandeira italiana, fora saudado por uma salva de tiros.
Gray sentia-se triste e inquieto.
Eram seus amigos — e teria saudades deles.
Subiu as escadas para o apartamento vazio. Seichan ainda se encontrava em Hong Kong, a tentar refazer aos poucos uma relação com a mãe. Tinham encontrado a mulher grávida de Ju-long numa ilha ao largo de Hong Kong e, segundo notícias de Seichan, ela regressara a Portugal.
Em Macau, Guan-yin tinha preenchido com brutal eficácia o vácuo de poder deixado após o falecimento de Ju-long e estava a caminho de se tornar a nova patroa da cidade. Aproveitando-se dessa posição, ela e Seichan estavam já a tomar medidas para melhorar o estatuto das mulheres da península e do Sudeste Asiático, começando pelas redes de prostituição.
Ele desconfiava que tais esforços eram uma forma de diminuir o fosso que separava mãe e filha. Aliviar o fardo de outras mulheres que viviam nas más condições em que outrora elas tinham vivido era ajudarem-se a si mesmas, como se remediar o presente amortecesse a dor sofrida durante o seu passado brutal e lhes desse espaço para se encontrarem de novo.
Mas não era a única maneira.
Seichan também decidira ajudar as crianças perdidas da Mongólia, meninos e meninas sem-abrigo que tinham caído pelas fendas de uma cidade que se debatia para fazer parte do mundo moderno. E Gray sabia que, socorrendo-as, ela socorria a criança do passado que não tinha ninguém.
Enquanto estava na Mongólia, tinha também visitado Khaidu. A ferida na barriga da rapariga causada pela flecha estava a sarar e o hospital dera-lhe alta.
Seichan foi vê-la à iurte da família, onde ela se entretinha treinando um jovem falcão — ave cheia de vida com penas douradas e olho pretos.
Khaidu chamara-lhe Sanjar.
Todos choramos e honramos os mortos de maneira particular, pensou ele.
Gray chegou ao apartamento e deparou com a porta fechada apenas no trinco.
Sentindo-se tenso, rodou a maçaneta e abriu-a. O interior estava às escuras.
Nada parecia estar fora do seu lugar. Entrou cautelosamente.
Ter-me-ei esquecido de trancar a porta quando parti?
Ao passar pela cozinha, sentiu o cheiro a jasmim no ar e viu luz por baixo da porta fechada do quarto de dormir. Avançou e empurrou a porta.
Seichan tinha acendido velas. Talvez percebendo que ele necessitava de companhia, devia ter regressado mais cedo de Hong Kong.
Estava estendida na cama, apoiada a um cotovelo, as longas pernas nuas contrastando com a brancura dos lençóis brancos. As curvas do seu corpo esguio eram um convite, mas não havia nenhum sorriso malicioso nem nenhuma provocação a acompanhar, apenas uma lembrança subtil de que estavam vivos e de que nunca deveriam tomar isso como garantido.
Seichan tinha-lhe contado o que ouvira por acaso na estalagem, em Khuzhir, acerca da doença terminal de Vigor. E Gray lembrou-se neste momento da mais importante lição sobre a vida que o monsenhor dera.
... não desperdices essa oferenda nem a guardes numa prateleira para uso futuro.
Agarra-a com ambas as mãos...
Gray aproximou-se, despindo-se a cada passo e arrancando a roupa que resistia até chegar também nu junto dela.
Conheceu com todas as fibras do seu ser, nesse instante, a verdade fundamental da vida.
Vive-a agora... quem sabe o que acontecerá amanhã?
COROA
Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa.
— 1 CORÍNTIOS 13, 12
35
26 de novembro, 10h17, CET
ROMA, ITÁLIA
Rachel esperava à porta que o tio terminasse a consulta com o médico. Vigor tinha-se resignado a ir ao hospital por causa da firme insistência da sobrinha, a qual não tinha, ainda por cima, quaisquer motivos válidos para exigir um tal número de testes.
Por fim, a porta lá se abriu. Ela ouviu o tio rir, apertar depois a mão do médico e sair.
— Bem, espero que fiques satisfeita — disse-lhe Vigor. — Uma saúde de ferro.
— E os resultados da ressonância magnética?
— À parte um pouco de artrite e a parte inferior das costas, nada. — E Vigor passou um braço em volta da cintura dela e dirigiu-se para a saída. — O médico disse que, para um homem na casa dos sessenta com tão boa saúde, posso contar viver até aos cem anos.
Rachel percebeu que ele estava a brincar, mas o tio tinha uma expressão particular nos olhos, como se estivesse a tentar lembrar-se de qualquer coisa.
— Que é? — perguntou-lhe.
— Sei que insististe neste exame de despistagem do cancro...
Ela suspirou de modo suficientemente ruidoso para o interromper.
— Desculpa... Desde o regresso da ilha Olkhon que tenho o pressentimento de que estiveste doente ou coisa assim. — Abanou a cabeça. — Estou a ser disparatada.
— Enquanto eu estava ali deitado com a máquina aos estalidos à minha volta, também quase julguei que tinhas razão.
— Só por causa da minha insistência...
— Talvez...
Não parecia convencido e parou antes de chegarem à saída do hospital.
— Tenho de te contar uma coisa, Rachel — prosseguiu. — Quando depositei o olho de cristal em cima da cruz de São Tomé, senti as entranhas rasgarem-se, como se todo o meu ser estivesse a ser dilacerado... ou dividido em dois. Era como se eu estivesse a ser levado por um feixe de luz branca. Tinha a certeza de que estava morto. Mas depois, num piscar de olhos, voltei, e Gray, Duncan e Jada entraram de roldão para ver como eu estava.
Rachel apertou-lhe a mão com mais força.
— Sinto-me tão feliz por estares a salvo.
Ele olhou-a.
— A seguir, virei-me para eles durante uns instantes e fui invadido pela tristeza, como se te tivesse perdido.
— Mas eu estava bem — disse ela. Quer dizer, à justa...
E pensou novamente naquela moeda de prata lançada ao ar a saltitar no soalho de madeira e em Pak a pisá-la com a bota. Tinha ficado furiosa com Seichan por esta lhe ter dito onde Gray e os outros se encontravam.
E depois Pak levantara a bota, mostrando o lado da moeda.
Coroa.
Pak fez uma expressão tão desapontada que, naquele momento, ela pensou que, se tivesse saído cara, ele a teria matado.
— Sobrevivi — disse Rachel.
— Bem, sei isso porque chegaste a correr pouco depois dos outros. — Encaminharam-se juntos para a porta. — Mas pergunto a mim mesmo por que razão cada um de nós teve maus pressentimentos em relação ao outro. Quer dizer, julgo que podia ter tido cancro. Se uma célula do meu corpo carregasse no botão errado... no branco em vez do vermelho, por exemplo... estaria agora cheio de tumores.
— Cara ou coroa — murmurou Rachel.
Vigor sorriu-lhe.
— Tanto da vida e da morte é pura sorte.
— É desmoralizador...
— Se confiares em quem lança a moeda, não.
Ela revirou os olhos.
O monsenhor insistiu.
— Há milhares de caminhos rumo ao futuro cheios de encruzilhadas. Quem sabe se, quando um determinado caminho está bloqueado, não se abre outro num universo diferente... e a nossa alma, a nossa consciência, salta por cima para prosseguir a viagem em frente, encontrando sempre o caminho certo.
Rachel, contudo, considerava que esses caminhos deixados para trás eram possibilidades que continuariam para sempre. A tristeza inundou-a como se tivesse perdido amigos queridos.
— Há sempre um caminho em frente — disse Vigor, chamando de novo a sua atenção.
— Para onde? — perguntou ela.
Vigor abriu a porta, encandeando-a com a luminosidade do dia.
— Para toda a parte.
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















