



Biblio VT




“Não há religião superior à verdade”
Nas palavras de Mário Roso de Luna ela foi “a mártir do século XIX”.
Enfrentou a fúria e o poder dos missionários ingleses e a oposição da Society for Psychical Research de Londres, devidamente desinformada pelo famigerado casal Columb (falsificadores de documentos e chantagistas, entre outras coisas). Lutou contra o preconceito da supremacia da filosofia e religiões ocidentais sobre a filosofia oriental.
Tornou-se budista em praça pública no Ceilão (Sri Lanka), escandalizando europeus fanáticos. Teve contra si os jornais indianos da época, financiados pelo governo colonial inglês.
Viajou sozinha, no século passado, pelas Américas, e foi ao Tibet, passando por toda a Europa, e mais por Java, Cingapura, Nepal e Japão.
Não bastasse ter peregrinado pelos pontos mais diversos do planeta, quando os aviões não existiam e as condições eram extremamente precárias, com as observações que fez e sua capacidade literária, herdada da mãe, e mais agudíssima intuição, escreveu alguns dos mais importantes livros do ocultismo ocidental: Isis Sem Véu, A Chave da Teosofia, Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio e o Glossário Teosófico.
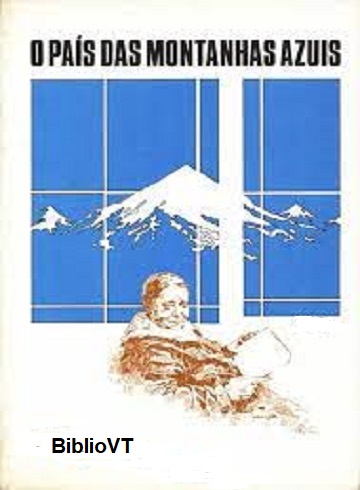
Sem sombra de dúvida, porém, sua maior obra é mesmo A Doutrina Secreta, monumental tratado de ocultismo, em seis volumes, que entre inúmeras peculiaridades apresenta o fato espantoso de conter milhares de citações absolutamente exatas de livros que H.P.B. não poderia ter consultado fisicamente! Os seis volumes abrangem desde a cosmogênese, simbolismo, ciência, religião e filosofia.
Helena Petrovna Blavatsky nasceu no ano de 1831, em Ekaterinoslav, Rússia, e faleceu em Londres, no ano de 1891. Era filha do coronel Hahn e de Helena Fadeef, princesa da família Dougorouki.
Possuía capacidade psíquica extremamente desenvolvida, que lhe permitia fazer observações ocultas e se comunicar com os Mestres de Sabedoria. Sob orientação e com o apoio dos Mestres de Sabedoria, fundou em 1875 a Sociedade Teosófica, hoje ativa em mais de sessenta países, tendo sua sede mundial em Madras, na Índia.
A influência de Blavatsky é avassaladora... Segundo o depoimento de sua sobrinha, Albert Einstein tinha A Doutrina Secreta à cabeceira.
Por meio do livro A Chave da Teosofia teosofistas ingleses levaram o jovem Gandhi a se interessar pela cultura de seu próprio povo. Jawaharlal Nehru foi membro da Sociedade Teosófica. A Dra Annie Besant, continuadora de Blavatsky, participou de inúmeras reuniões do Congresso Nacional Indiano. O poeta Fernando Pessoa traduziu A Voz do Silêncio para o português. O pensador Jidu Krishnamurti nasceu dentro do movimento teosófico. Rudolf Steiner, criador da Antroposofia, foi presidente da seção alemã da Sociedade Teosófica. O músico Alexandre Scriabin e os pintores Pieter Mondrian e Vassily Candinsky foram diretamente influenciados pelos ensinamentos de H.P.B. e da teosofia.
Toda plêiade de escritores e ocultistas foi direta e indiretamente influenciada pela teosofia ou mesmo se desenvolveu em ambiente teosófico. Entre eles podemos citar C.
W. Leadbeater, Joffrey Hodson, G. R. S. Mead, Sri Ram, Edwin Arnold, Arthur Powell, Mabel Collins, I. K. Taimmi, Christmas Humpheys, Subba-Raw, Félix Bermudes, Cyril Scott, Alice A. Bailey, Hermann Hesse, Dion Fortune, J. J. Van der Leew, Edouard Schuré, Manly P.Hall, Max Heindel. Se levarmos em conta a influência que estas personalidades têm, ou tiveram na época em que viveram e na atualidade poderemos ter uma idéia da presença viva dessa mulher extraordinária nos dias de hoje. Apesar de todos os ataques a Teosofia, como se vê, floresceu nos seus continuadores (diretos ou indiretos), pois nas palavras do Mestre M., “Tendes ainda de aprender que enquanto não houver na Sociedade Teosófica três homens dignos da bênção de Nosso Senhor, ela jamais será destruída”.
A perseverança de H.P.B. e sua incansável busca da verdade deram frutos além do universo visível...
Blavatsky revolucionou o Ocultismo Ocidental; ela seguiu a trilha deixada por seus Mestres e à custa de grandes sacrifícios cumpriu sua missão tendo em mente as palavras de K. H. “Lembra-te de que esforço algum jamais é perdido, e que para o Ocultismo não há passado, presente nem futuro e sim um eterno Agora”.
O editor
M. S. T.
ALGUMAS PALAVRAS
Helena Petrovna Blavatsky
Recentemente um importante jornal de Londres escreveu em tom sarcástico que os sábios russos, e com maior razão as massas russas, só possuíam noções muito confusas sobre a Índia em geral e seus nacionais em particular (1).
(1) O editor lembra que estes comentários são sobre a atualidade de então, cerca de um século atrás.
Cada russo, conforme o caso, pode responder a essa nova “insinuação” britânica questionando o primeiro anglo-hindu que encontre, na seguinte forma:
- Perdoe esta indiscrição: quem lhe ensinou e o que você sabe com precisão sobre a maior parte das raças da Índia que lhe pertence? Como exemplo, que resolveram seus melhores etnólogos, seus mais ilustres antropólogos, seus filólogos e estatísticos após um debate de cinqüenta anos acerca da tribo misteriosa dos toddes, no Nilguiri, que parece ter caído dos céus? Que sabe sua “Real Sociedade” (por mais que seus membros se ocupem desta questão, com risco de perderem a alma, faz quase meio século) para resolver o problema das tribos misteriosas das “Montanhas Azuis”, dos anões que semeiam o terror, difundem o espanto e os que se chamam os “mulu-kurumbes”? Dos jaonadis, dos Kchottes, dos erulhares, dos baddagues, ou seja, cinco tribos do Nilguiri e mais outras dez, menos misteriosas, mas mesmo assim pouco conhecidas pequenas e grandes, que moram nas montanhas?
Em resposta a todas estas perguntas se, contra tudo o que o mundo esperava, o inglês fosse tomado por um acesso de franqueza (fenômeno bastante raro entre os ingleses) os sábios e os viajantes russos caluniados poderiam ouvir a seguinte confissão, completamente inesperada:
- Ai! Ignoramos tudo dessas tribos. Só conhecemos sua existência porque as encontramos, lutamos com elas e as esmagamos e amiúde enforcamos seus membros.
Por outra parte, não temos a menor idéia sobre a origem, tampouco sobre a língua
desses selvagens e ainda menos dos nilguirianos. Nossos sábios anglo-hindus e os da metrópole quase perdem o juízo por causa dos toddes.
Verdadeiramente, essa tribo representa um enigma para os etnólogos de nosso século e parece um enigma indecifrável. Além disso, o passado desses seres tão escassos, pelo seu número, está coberto pelo véu impenetrável de um mistério milenar, não só para nós europeus como também para os próprios hindus. Tudo neles é extraordinário, original, incompreensível, inexplicável. Assim como os vimos no primeiro dia em que caímos sobre eles imprevistamente, imprevisivelmente, assim permaneceu, assim são: Enigma de Esfinge...
Assim teria falado ao russo qualquer anglo-hindu honesto. E deste modo respondeu-me um general inglês – que encontraremos novamente – quando o questionei sobre os toddes e os kurumbes.
- Os toddes! – Os kurumbes! Exclamou, tomado de súbito furor. – Houve tempo em que os toddes quase me enlouqueceram e os mulu-kurumbes mais de uma vez deram-me febre e delírio. Como e por que? Você saberá depois. Ouça. Se alguns de nossos imbecis (Dunces) funcionários do governo declarar-lhe que conhece perfeitamente e estudou os costumes dos toddes, fale-lhe por mim que se jacta e mente. Ninguém conhece essas tribos. Sua origem, sua religião, costumes e tradições, tudo isso continua sendo Terra incógnita tanto para o homem de ciência quanto para o profano. No que corresponde a seu assombroso “poder psíquico”, como o chama Carpentier (2), sua feitiçaria desse modo dominante, seus diabólicos sortilégios, quem poderia explicar-nos essa força?
Trata-se de sua influência sobre os homens e os animais, que ninguém compreende nem interpreta, absolutamente: essa ação é benéfica nos toddes, maléfica nos kurumbes. Quem pode adivinhar, definir esse poder que utilizam segundo os seus desejos? Entre nós, zombam desse poder, é claro, e mofam das pretensões dessas tribos. Não acreditamos na magia e qualificamos de práticas supersticiosas e de bobagens tudo quanto depende da fé real dos indígenas. E é impossível acreditar nisso. Em nome de nossa superioridade de raça e de nossa civilização, negadora universal, vemo-nos constrangidos a nos afastar dessas estupidezes.
(2) Carpentier, célebre fisiólogo.(nota de Blavatsky)
- E, no entanto nossa lei reconhece de fato essa força, quando não em princípio
ao menos nas suas manifestações, já que castiga os que são culpados; e isso sob diversos pretextos velados e aproveitando números vazios na nossa legislação. Essa lei reconheceu os feiticeiros, permitindo enfocar com suas vítimas um certo número deles.
Nós os castigamos assim, não só pelos seus sangrentos crimes como também pelos seus homicídios misteriosos, nos quais não há derramamento de sangue e que nunca puderam ser legalmente provados nesses dramas tão freqüentes, aqui entre os bruxos do Nilguiri e os aborígines dos vales.
- Sim, você tem razão: compreendo que pode rir de nós e de nossos esforços vãos
– prosseguiu –, pois a despeito de todo o trabalho não temos adiantado um centímetro para a solução desse problema desde o descobrimento desses magos espantosos bruxos das cavernas do Nilguiri (Montanhas Azuis). É essa força verdadeiramente taumatúrgica neles o que nos irrita mais que qualquer outra coisa: não estamos numa situação de poder negar suas manifestações, pois necessitaríamos, para isso, lutar a cada dia contra provas irrefutáveis. Ao rejeitar as explicações dos fatos, providas pelos indígenas, não fazemos outra coisa que nos perdermos em hipóteses elaboradas pela nossa razão. Negar a realidade dos fenômenos chamados encantamentos e sortilégios, e além disso, condenar os feiticeiros à forca, nos faz parecer, com nossas contradições, como grosseiros carrascos de seres humanos: pois não só os crimes desses homens não foram ainda comprovados como chegamos até a negar a possibilidade mesma desses homicídios. Cabe-nos dizer isto dos toddes. Zombamos deles e não obstante respeitosamente essa misteriosa tribo... Quem são eles, o que representam? Homens ou gênios dessas montanhas, deuses sob os sórdidos farrapos da humanidade? Todas as conjecturas que se relacionam a eles rebatem como uma bola de borracha que cai sobre uma rocha granítica... Pois bem, saiba que nem os anglo-hindus nem os indígenas ensinaram algo de certo acerca dos toddes, nem acerca dos kurumbes. E eles não dirão nada, pois nada sabem, e nunca saberão nada...
Assim me falou um plantador nilguiriano, major-general reformado e juiz nas
“Montanhas Azuis” quando respondia minhas perguntas sobre os toddes e os kurumbes, que desde muito me interessam.
Achávamo-nos perto das rochas do “lago” e quando se calou ouvimos por longo tempo o eco da montanha que despertado por sua voz forte repetia irônico e
debilitando-se, “nunca saberão nada”... “nunca saberão nada”...
E, no entanto interessava muito sabê-lo! Semelhante descobrimento no concernente aos toddes seria, sem dúvida, mais instrutivo que toda a novíssima revelação acerca das dez tribos de Israel, que a “Sociedade de Identificação” (3) acaba de reconhecer, por casualidade e inopinadamente, entre os ingleses.
(3) Identification Society of London; que se estipulou a meta de aprofundar a questão das “tribos perdidas”. Essa Sociedade é muito rica, e uma das curiosidades da Inglaterra (nota de Blavatsky)
E agora escrevamos o que temos investigado. Mas antes ainda ficam por dizer algumas palavras.
Tendo escolhido em suas lembranças os toddes e os mulu-kurumbes como principais heróis, sentimos que abordamos um problema perigoso para nós: penetrar num terreno indesejável para os sábios e os não-sábios europeus, uma terra que os desgosta.
Certamente esse problema, estudado nos jornais, não é daqueles de que gostam as massas. E sabemos que a imprensa rejeita obstinadamente tudo quanto de perto ou de longe lembra a seus leitores os “espíritos”, espiritismo. No entanto, quando nos referimos às Montanhas Azuis e às suas misteriosas tribos é absolutamente impossível calar o que constitui seu caráter distinto fundamental, essencial.
Quando se descreve uma região muito particular de nosso globo, sobretudo os seres que moram nela, misteriosos e muito diferentes de seus semelhantes, é impossível desprezar da narração os elementos mesmos com os quais se edificou a própria vida ética e religiosa. Em verdade é tão inadmissível atuar dessa forma a respeito dos toddes e dos kurumbes como representar Hamlet tirando desse drama o papel do príncipe dinamarquês. Os toddes e os kurumbes nascem, crescem, vivem e morrem em uma atmosfera de feitiçaria. Se acreditarmos nas palavras dos aborígines e até na dos velhos habitantes europeus dessas montanhas, tais selvagens estão em constantes relações com o mundo invisível. Deve-se a isto que nesta floração de anomalias geográficas, etnológicas, climáticas e outras da natureza, nossa narração ao se desenvolver enche-se de histórias nas quais se mistura o demoníaco – assim como o trigo e o joio – de irregularidades na natureza humana, do domínio da física transcendental: em verdade, a culpa não é nossa. Sabendo até que ponto esta parte do conhecimento desagrada os
naturalistas, agradar-nos-ia certamente zombar, como eles, das longínquas regiões e das
“mais próximas” a essa aborrecida comarca; mas nossa consciência não no-lo permite. É
impossível descrever as novas tribos, as raças são mal conhecidas, sem nos ocuparmos, para não aborrecer os céticos, das manifestações mais características, mais destacadas de sua vida quotidiana.
Os fatos são evidentes. São por casualidade e conseqüência de fenômenos anormais, puramente fisiológicos, segundo a teoria favorita dos médicos: devemos considerá-los como resultados de materialização (por certo igualmente naturais) de forças da natureza que parecem à ciência (em seu atual estado de ignorância) impossíveis, inexistentes, e que conseqüentemente ela nega; isso carece de importância para a meta que perseguimos. Apresentamos, como dissemos, apenas fatos. Muito pior para a ciência, se nada aprendeu no que corresponde a estas questões e se, conhecendo nada, continua julgando os fatos como “absurdos e bárbaros”, “superstições grosseiras” e contos de velhas. Mas fingir a não-crença e rir da fé do próximo em tudo que se admite como pertencente à realidade demonstrada não é próprio de um homem honrado ou de um pintor exato.
Qual é a medida em que pessoalmente acreditamos na feitiçaria e nos encantamentos, o leitor verá nas páginas seguintes. Existem grupos completos de fenômenos na natureza que a ciência é incapaz de explicar razoavelmente, pois os assinala como derivados da ação única das forças físico-químicas universais.
Nossos sábios acreditam na matéria e na força; mas não desejam acreditar num princípio vital separado da matéria. E, no entanto, quando lhes perguntamos cortesmente o que é em essência essa matéria e o que representa a força que a renova atualmente, nossos propagadores da luz ficam boquiabertos e respondem: “Não sabemos”.
Nesse caso tanto os sábios podem falar, ainda hoje, dessa tripla essência da matéria, da força e do princípio vital em forma tão deplorável como os anglo-hindus dos toddes, que rogamos ao leitor retroceder conosco meio século. Pedimos-lhe que ouça a seguinte história: como descobrimos a existência do Nilguiri (Montanhas Azuis), hoje o dourado de Madras; como lá encontramos gigantes e anões desconhecidos até esse dia e entre os quais o governo russo pode achar completa semelhança com suas bruxas e
curandeiros. Além disso, o leitor se informará que sob os céus da Índia há uma admirável comarca onde, a uns três mil metros de altura, no mês de janeiro, os homens levam somente vestes de musselina e agasalham-se em julho, em mantos de pele, apesar dessa terra estar só a 11 graus do equador.
O autor deste livro teve que seguir os hábitos dos aborígines, uma vez que na planície, uns três mil metros mais abaixo, havia a temperatura de 118º F à sombra fresca das árvores de folhagem mais espessa.
CAPÍTULO I
Faz exatamente sessenta e quatro anos, ou seja, em fins do ano de 1818, no mês de setembro, realizou-se um descobrimento, muito fortuitamente e de natureza extraordinária, perto da costa de Malabar e a apenas 350 milhas da ardente terra de Dravid chamada Madras. Esse descobrimento pareceu de tal modo estranho, até incrível a todo mundo, que ninguém no começo acreditou. Boatos confusos, inteiramente fantásticos, relatos semelhantes a lendas estenderam-se em seguida entre o povo, logo mais alto... Mas quando se infiltraram nos jornais locais e se converteram em realidade oficial a febre da espera chegou a ser, em todos, um verdadeiro delírio.
No cérebro dos anglo-madrasianos, de lentos movimentos e quase atrofiados pela preguiça, tendo por motivo a canícula, aconteceu uma modificação molecular, para usar a expressão de célebres fisiólogos. Com exclusão dos Mudiliares, linfáticos que reúnem em si os temperamentos da rã e da salamandra, tudo se comoveu, agitou e começou a disparar ruidosamente a respeito de um maravilhoso éden primaveril descoberto no interior das “Montanhas Azuis” (1), provavelmente por dois aptos caçadores. [(1) O
Nilguiri está composto de duas palavras sânscritas: NILAM, “azul” e GUIRI, montanhas ou colinas. Essas montanhas são assim chamadas por causa da luz resplandecente sob que aparecem aos habitantes dos vales de Maisur e de Malabar (nota de Blavatsky).]
De acordo com o que diziam eles, era o paraíso terrestre, embalsamados zéfiros e frescor durante o ano todo: comarca elevada acima das eternas brumas do Kuimbatur (2) do qual caiam imponentes cascatas, onde a eterna primavera européia vai de janeiro a dezembro. [(2) Segundo se supõe esse nevoeiro se deve aos fortes calores e às exaltações dos pântanos; forma-se entre 3000 e 4000 pés acima do nível do mar e se estende ao comprimento de toda a cordilheira dos montes Kuimbatur. Esse nevoeiro é sempre de uma cor azul resplandecente: nos tempos de monção transforma-se em nuvens que levam água (nota de Blavatsky).]
As rosas silvestres, que se levantam do chão quase dois metros, e os heliotrópios florescem ali, lírios do tamanho de uma ânfora (3) embalsamam a atmosfera: búfalos antediluvianos, julgando por seu talhe, passeiam livremente e moram na comarca os Broddingnags e os liliputenses de Gulliver. Cada vale, cada desfiladeiro dessa admirável
Suíça hindu representa um cantinho do paraíso terrestre fechado ao resto do mundo...
Ouvindo estes relatos o fígado dos “muito respeitáveis” pais da “East Indian Company”, tão atrofiado e sonolento como seu cérebro, acordou à vida, e a saliva correu-lhe pelos lábios. No começo ninguém sabia qual a região precisa em que haviam descoberto essas maravilhas e ninguém pode saber como e onde buscar esse frescor tão atrativo no mês de setembro. Finalmente os “pais” resolveram que era mister sancionar o descobrimento em forma oficial e reconhecer, antes de tudo, exatamente o que se acabava de descobrir.
[(3) É esta descrição, sem exageros, da flora mais maravilhosa que talvez exista no mundo.
Matos de rosas de todas as cores trepam pelas casas e cobrem o telhado; os heliotrópios alcançam alturas de vinte pés. Mas as mais belas flores são as açucenas brancas, cujo perfume arrebata o coração. Do tamanho de uma ânfora, crescem nas fendas das rochas desnudas nos matos isolados, da altura de um metro e meio a 2
metros; produzem ao mesmo tempo umas doze flores. Estas açucenas não se encontram no cimo, cuja altura é inferior a 7000 metros; acham-se somente subindo mais alto. E
quanto mais alto se sobe, mais magníficas são; no pico do Toddout (próximo aos 9000
pés), florescem 10 meses ao ano (nota de Blavatsky)]
Os dois caçadores foram convidados à Repartição Oficial da Presidência e então se inteiraram de que na vizinhança de Kuimbatur os seguintes acontecimentos tinham lugar...
Mas antes de tudo, o que é Kuimbatur?
Kuimbatur é a principal cidade da região que leva esse nome, e esta se acha a umas trezentas milhas de Madras, capital da Índia do Sul. Kuimbatur é célebre por muitos pontos de vista. Antes de tudo é uma terra prometida para o caçador de elefantes e tigres, assim como para a caça menor, porque esta região, além de seus outros encantos, é célebre pelos seus pântanos e espessos bosques. Pressentindo a morte os elefantes abandonam, não se sabe porque, os impenetráveis bosques pelos pântanos. Ali submergem na lama profunda e se preparam tranqüilamente para o Nirvana. Graças a esse estranho costume os ossos e presas dos elefantes são abundantes nos lamaçais e é fácil procurá-los (ou melhor, era, outrora). Digo “procurá-los” no passado. Ah! As coisas mudaram inteiramente desde aquela época da desditosa Índia. Hoje não se pode obter
coisa alguma neste país, e ninguém consegue algo, salvo o vice-rei; o vice-reinado lhe rende efetivamente honras reais e outorga-lhe enorme quantidade de dinheiro, acompanhada muitas vezes por ovos podres oferecidos pelos iracundos anglo-hindus.
Entre o “outrora” e o “hoje” se abriu um abismo de “prestígio” imperial, através do qual se ergue o espectro de Lord Beaconsfield.
Na época os “pais da Company” obtinham, compravam, descobriam e conservavam. Hoje o conselho do vice-reinado recebe, toma, expropria e conserva nada.
Antes, os “pais” constituíam a força motriz do sangue da Índia, que se coagula e que de certo sugavam, mas também rejuvenesciam vertendo novo sangue nas velhas veias. Hoje o vice-rei, com seu conselho só injeta bílis. O vice-rei é o ponto central de um império imenso pelo qual não se sente simpatia alguma e com o qual não tem qualquer interesse comum. Segundo a poética expressão de Sir Richard Temple, o “vice-rei é sólido eixo em cujo redor deve girar a roda do império...” Seja: mas essa roda se move, desde algum tempo, com tão descontrolada rapidez que ameaça a qualquer momento fazer-se em fanicos.
Mas, como antes, ainda hoje Kuimbatur só é conhecida pelos seus bosques e lamaçais; a lepra, as febres e a elefantíase são ali endêmicas (4).
[(4) Esta enfermidade terrível e quase incurável, que pode durar anos, deixando o homem em boa saúde do ponto de vista orgânico, é muito freqüente nesse país. Uma perna se incha desde a planta do pé até a panturrilha, logo se incha a outra perna até que ambas, completamente deformadas, adquirem o aspecto de patas de elefante, tanto pelo aspecto como pelo tamanho (nota de Blavatsky).]
Kuimbatur, ou o distrito que leva esse nome, não deve considerar-se um desfiladeiro. Situado entre Malabar e Karnatik, o distrito de Kuimbatur penetra em ângulo agudo, até o sul, nas Montanhas Anemal, ou Montes Elefanta (5), logo trepa gradativamente até as alturas de Maisur, ao norte, como se os “ghats” (6) ocidentais o aplastassem, com suas espessas florestas quase virgens, muda de rumo em ângulo reto e desaparece nas selvas menos importantes onde moram as tribos silvícolas. Lá é a morada tropical do elefante, sempre verdejante por causa das emanações dos miasmas de lá; também se encontra a cobra constritora, mas sua raça se extingue.
[(5) Da palavra ane, elefante, pois esses animais abundam desde tempos
imemoriais nessas montanhas (nota de Blavatsky).]
[(6) Ghats montanhas (nota de Blavatsky).]
Pelo lado de Madras, essa massa de montanhas semelhantes, ao longe, a um triângulo retângulo, parece enganchada a outra serrania triangular, ainda maior, aos planos da superfície montanhosa de Dekkan que apóia seu extremo setentrional contra os montes Vindya, na presidência de Bombaim e suas pontas ocidental e oriental contra as “colinas” de Sakhiadri na presidência de Madras. Estas duas cadeias de montanhas, que os ingleses chamam colinas, constituem um laço de união entre os Ghats (7) ocidentais e orientais da Índia. Embora as alturas destes se aproximem dos Ghats do oeste, perdem progressivamente seu caráter vulcânico.
[(7) Ghats montanhas e Guiri, colina (nota de Blavatsky).]
Unindo-se finalmente com os cimos pitorescos e ondulados do Maisur ocidental, parecem fundir-se neles, deixam definitivamente de ser considerados como Ghats e são chamadas simplesmente colinas.
Os dois extremos desse triângulo aparente se erguem, na presidência de Madras, em ambos os lados, à esquerda e à direita da cidade de Kuimbatur, produzindo a aparência de pontos de exclamação.
Assemelham-se a duas sentinelas gigantes colocadas pela natureza para vigiar a entrada do desfiladeiro. São dois cumes de ponta aguda, coroados por rochas dentadas, os sopés cobertos de verdejantes bosques e rodeados no alto por um eterno cinto de nuvens e brumas azuladas. Essas montanhas de pontiagudos cumes são chamadas
“Teperifs” da Índia, o Nilguiri e o Mukkartebet. A primeira chega a 8760 pés, a outra a 8380 pés acima do nível do mar.
Durante séculos esses dois cumes foram considerados inacessíveis aos simples mortais, pelo povo. Essa reputação desde muito tempo havia tomado a forma de lendas locais e toda a comarca, na superstição popular, era tida por santa e, é claro, enfeitiçada.
Franquear seus limites, até involuntariamente, era cometer um sacrilégio que só a morte podia castigar. O To-De era a morada dos deuses e das deusas superiores.
O Suarga (paraíso) achava-se ali com o Naraka (inferno) cheio de “Asuras” e de
“Pisaches” (8). [(8) Asuras espíritos cantores que enfeitiçavam os ouvidos dos deuses com seus cantos, como os Gondarvis o fazem com sua música. Pisachis, espíritos
vampiros. Todos eles são deuses divididos em multidões de classes (nota de Blavatsky).]
Assim, protegidos pela fé religiosa, o Nilguiri e o Todabet (Mukkartebet) permaneceram por muitos séculos completamente desconhecidos do resto da Índia.
Como, então, em épocas tão longínquas como a da “Right Honourable East India Company”, nos anos vinte do nosso século XIX, um europeu qualquer podia conceber o pensamento de se internar na região interior de uma montanha fechada por todos os lados? Não por acreditar nos espíritos cantores, mas ante a inacessibilidade dessas alturas ninguém era capaz de supor a existência nessas montanhas de tão belas paisagens. E, menos, supor a presença de criaturas viventes que não fossem as feras e as cobras.
Poucas vezes um sportsman ou um caçador da Eurásia chegava ao pé dos enfeitiçados montes e insistia para que um chicari (caçador) o conduzisse a algumas centenas de pés mais alto. Os guias indígenas, de acordo com os chicaris, negavam-se a fazê-lo, muito naturalmente, sob um pretexto ou outro. Muito amiúde afirmavam ao Saab (9) que era impossível ir mais alto; já não havia mais bosques nem caça, só se viam cavidades, penhascos, nuvens e cavernas habitadas por maléficos Silvanos, guardas de honra dos devas. Por isso nenhum chicari aceitava, por mais atraente que fosse a soma oferecida, subir mais alto que uma conhecida linha de demarcação nessas montanhas...
[(9) SAAB - Este apelido é dado pelos indígenas, indiferentemente, aos funcionários ou aos caçadores ingleses e os tigres. Para o ingênuo hindu, não existe, na verdade, diferença alguma entre essas duas raças de seres; só que o fuzil do desditoso indígena, cada vez que se produzia um levantamento nacional, não fazia alvo nos ingleses, por uma felicidade que estes não mereciam (nota de Blavatsky).]
“O que é o chicari?” O representante desse tipo segue sendo semelhante ao das épocas fabulosas do rei de Roma. Cada profissão se torna hereditária na Índia, logo se converte em casta. Assim como o pai foi, assim será seu filho. Gerações inteiras cristalizam-se e parecem petrificar-se numa única e mesma forma. O chicari leva um traje composto de faca de caça, polvorinhos feitos com chifres de búfalos, o antigo fuzil de pederneira que em dez tiros falha nove e todas essas provisões ele as leva no corpo desnudo. Muitas vezes tem o aspecto de um ancião decrépito e quando um estrangeiro de “coração sensível” se encontra com ele (nem indígena, nem inglês) seu primeiro movimento é oferecer-lhe gotas de Hoffmann, tão oco é seu ventre, e parece tomado pela
dor. Mas a razão pela qual o chicari caminha penosamente abaixado, dobrado em dois, não é essa: trata-se de um hábito contraído pelo constrangimento de sua profissão.
Quando um Saab sportsman ordena, basta ensinar-lhe ou dar-lhe algumas rúpias e o chicari se endireita instantaneamente e começa a regatear por qualquer coisa. Depois de concluir a transação voltará a se inclinar, deslizará nos bosques prudentemente, cobrindo o corpo e embrulhando os pés com ervas aromáticas para que as feras não o descubram com a finalidade de não farejarem o “espírito” do homem.
O chicari permanece assim várias noites consecutivas, oculto como uma ave de rapina na espessa folhagem de uma árvore, no meio de “vampiros” menos sanguinários que ele. Sem atraiçoar sua presença pelo mínimo suspiro o caduco caçador se prepara para seguir com sangue frio a agonia de um infeliz cabrito ou um jovem búfalo amarrado por ele à árvore para atrair o tigre. Logo, abrindo os dentes até as orelhas à vista do carniceiro ouve, sem mover um só músculo, o lamentável balido e aspira com prazer o cheiro do sangue fresco misturado ao odor específico e forte do carrasco listrado dos bosques. Afastando os galhos com prudência e sem ruído, observa amplamente com olhar agudo o animal que se sacia e quando a fera se acerca pesadamente com suas sangrentas patas sob o solo seco, lambendo os beiços e bocejando, depois se virando conforme o hábito de todos os carniceiros listrados para olhar os restos da vítima o chicari faz fogo com o fuzil de pederneira e com segurança tomba a besta ao primeiro disparo. “A arma do chicari nunca falha quando atira sobre um tigre” é a antiga sentença que se tem convertido em axioma entre os caçadores. E se o Saab deseja divertir-se caçando ele mesmo o “bar saab” (grande senhor dos bosques) então o chicari, observando de sua árvore o lugar onde foi descansar o tigre, enquanto aparecem os primeiros fulgores da alva, salta de seu esconderijo, corre para o povoado, reúne uma multidão, prepara uma batida, afadiga-se todo o dia, debaixo das chamas tórridas e mortíferas do sol, de um grupo ao outro, berrando, gesticulando, organizando, dando ordens até o momento em que o Saab Nº 1, seguro no lombo de um elefante, tenha ferido o Saab Nº 2, momento em que o chicari deve interferir para rematar o animal com seu antigo fuzil... Só então, e no caso de não acontecer algo extraordinário, o chicari se dirige ao primeiro matagal que achar, e tudo a um tempo faz seu desjejum, almoça, lancha e janta comendo um punhado de péssimo arroz e um gole de água dos pântanos...
E assim, com três desses hábeis chicaris, em setembro de 1818, no fim das férias estivais dos ingleses, funcionários agrimensores ao serviço da “Company” em expedição de caça no Kuimbatur se extraviaram, chegando ao limite perigoso da montanha: o desfiladeiro de Guzlekhut, muito próximo à célebre cascata de Kolakambe (10).
[(10) Essa cascata tem 680 pés de altura. Nas suas proximidades passa hoje o caminho que leva à Uttakamand (nota de Blavatsky).]
Por cima de suas cabeças, longe e muito alto sob as nuvens, penetrando em isoladas manchas a fina bruma azul, divisam-se as rochosas agulhas do Nilguiri e do Mukkartebet. Era terra incógnita, o mundo encantado...
Misteriosas montanhas,
Morada de desconhecidos Devas,
Colinas azuis.
(Como diz antiga canção no terno idioma de malaialim). “De azul”, em verdade.
Contemplar não importa que ponto do horizonte e da distância que desejar, do cume ou do pé, do vale ou dos outros cumes, ainda com tempo brumoso, até o momento em que deixam de ser visíveis, essas montanhas resplandecem como uma preciosa safira, com brilho interno; parecem respirar levemente e confundem, como ondas, suas azuladas selvas que num lugar distante se matizam com reflexos de turquesa e ouro, que surpreendem, ainda com certa reserva de si mesmo, pelo extraordinário colorido...
Os agrimensores, desejando tentar a sorte, ordenaram aos chicaris que os levassem mais longe. Mas os valentes chicaris se negaram de forma terminante, como se esperava.
Logo após o relato dos dois ingleses, inteiramo-nos de que esses dois experimentados caçadores e valentes exterminadores de tigres e elefantes fugiram, quando se falou em subir mais alto, atrás da cascata. Capturados e trazidos de volta para a catarata os três se deixaram cair com o rosto tocando o chão, ante a torrente que bramava, e segundo as ingênuas palavras de um dos engenheiros ingleses, Kindersley, “os esforços combinados de nossos dois látegos não conseguiram obrigá-los a se levantar... antes que houvessem terminado suas ruidosas invocações dos devas dessas montanhas, suplicando aos deuses não castigá-los nem matá-los por tal crime, a eles, inocentes chicaris. Tremiam como folhas de álamo tremedor, retorciam-se no úmido solo da aura, como presos de uma
crise de epilepsia... Ninguém atravessou alguma vez os limites da cascata de Kolakambe, diziam, e quem entra nessas cavernas não sai delas vivo”.
Essa vez, ou mais exatamente esse dia, os ingleses não conseguiram ir além da catarata. De bom ou mal grado, tiveram que regressar à aldeia, que abandonaram pela manhã depois de pernoitar nela. Os ingleses temeram extraviar-se sem guias ou sem chicaris e por essa razão cederam. Mas no seu foro íntimo juraram obrigar os chicaris ir mais longe na próxima vez.
De regresso à aldeia, para passar a segunda noite, convocaram todos os habitantes e celebraram conselho com os anciões. O que ouviram não fez mais que aumentar sua curiosidade. Os boatos mais extraordinários corriam entre o povo, perto das montanhas encantadas. Numerosos agricultores apelaram à autoridade dos plantadores locais e funcionários da Eurásia, que conheciam a verdade a respeito dos Lugares Santos e compreendiam perfeitamente a impossibilidade de ir lá.
Conta-se uma verdadeira epopéia a respeito de um plantador índio que possuía todas as virtudes, exceto a fé nos deuses da Índia. Um bom dia – assim disseram os brâmanes importantes Mister D., que caçava um animal e não prestava a mínima atenção a nossas advertências, desapareceu atrás da cascata; nunca mais se voltou a vê-lo.
Depois de uma semana as autoridades deram a conhecer algumas suposições a respeito de seu provável destino e graças ao velho macaco “sagrado” do pagode vizinho.
Sabe-se que essa respeitável besta tinha o costume, em seus momentos livres de toda a obrigação religiosa, de visitar as plantações vizinhas, onde os kulis, cheios de piedade, a alimentavam e mimavam. Um dia o macaco regressou com uma bota sobre a cabeça. A bota chegava sozinha, privada da perna do plantador, e seu dono se perdera, pois, para sempre: indubitavelmente o insolente fora destroçado pelos pisachis. Assim o povo entendeu. Claro que a “Company” suspeitou dos brâmanes do pagode que, desde muito tempo, tinham começado um processo com o desaparecido, sendo o motivo um terreno do qual era dono. Mas os Saab suspeitavam sempre e por todas as coisas dos homens santos, particularmente no sul da Índia...
As suspeitas não tiveram conseqüência alguma. E o desditoso plantador desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Passou inteiramente e para a eternidade a um mundo longínquo, e ainda menos estudado, naquela época, pelas autoridades e pelos
sábios, que o das Montanhas Azuis, o mundo do pensamento incorpóreo. Na terra, converteu-se em sonho cuja lembrança perpétua segue vivendo ainda hoje, sob a forma de bota, atrás de um vidro de armário, no escritório da polícia do distrito...
Conta-se... O que é que não se diz sobre esse particular? Aqui está: aquém das
“nuvens chuvosas” as montanhas são inabitáveis; isto, naturalmente, no que concerne aos simples mortais vivíveis para todo mundo. Mas além das “iracundas Águas” da cascata, é dizer, nas alturas dos cumes sagrados de Toddabet, do Mukkartebet e do Rongasuami, mora uma tribo não-terrestre, tribo de feiticeiros e semideuses.
Lá reina uma eterna primavera, não há chuvas, seca, calor, frio. Não só os magos desse povo não se casam nunca, pois senão morrem e não nascem jamais; seus filhos caem já feitos dos céus e “crescem para cima”, segundo a característica expressão de Topsy em “A cabana do Tio Tom”. Nenhum mortal logrou ainda chegar a esses cumes; ninguém o conseguirá, salvo, talvez, depois da morte.
“Então terá lugar nos limites do possível, pois assim como o sabem os brâmanes
– e quem poderia estar melhor informado disso? – os habitantes do céu das Montanhas Azuis, por respeito ao Deus Brahma, cederam-lhe parte da montanha que está embaixo do Svarga (paraíso). É de supor, pois, que naquela época esse pavimento estava ainda em reparos...”. É esta a tradição oral que ainda se conserva escrita na “Recopilação das lendas e tradições locais”, traduzida ao inglês do idioma tamil por missionários.
Recomendo ao leitor a edição de 1807.
Estimulados por esses relatos e mais especialmente pelas dificuldades visíveis e todos os obstáculos que se oporiam à sua excursão, nossos dois ingleses resolveram provar mais uma vez aos indígenas que para a raça “superior” que os governava a palavra
“impossibilidade” não existia. O prestígio britânico teve que proclamar sua presença em todas as épocas da história; ou corria o risco de ser esquecido...
Que não se indignem meus amigos anglo-hindus, zelosos e receosos! Que lembrem melhor as páginas escritas sobre a Índia e os ingleses por Ali Babá (11) [(11) Alberight Mackay, morto faz dois anos (nota de Blavatsky)], um de seus escritores, de quem cada movimento de pena representa sempre uma sátira cruel e profundamente certa sobre a situação atual da Índia. Quão vigorosas e vivas as cores com as quais se descreveu esse país-mártir! Contemplai o panorama da Índia, meditai na presença hoje
necessária dessas legiões de soldados vestidos com o uniforme escarlate e de Sais e Chuprasis do vice-rei, reluzentes de ouro. Os sais são os palafreneiros e recadistas dos funcionários. Os chuprasis são os encarregados dos transportes oficiais do governo, que levam a libré do “império” e estão a serviço dos funcionários, pequenos e grandes.
Vendido a peso, todo o ouro de suas librés, obter-se-ia uma soma cuja metade bastaria para alimentar centenas de familiares anualmente. Somei a isso as despesas dos membros, sempre escarlates de embriaguez, do Conselho e das diferentes comissões que constituem habitualmente, ao fim de uma escassez geral; e tenho demonstrado como o prestígio britânico mata a cada ano, mais indígenas do que a cólera, os tigres, as cobras peçonhentas e os baços (12) hindus, que arrebentam tão facilmente (e sempre tão oportunamente)...
[(12) Esse órgão, cujo nome em inglês é spleen, na realidade desempenha na Índia um importante papel. O baço indígena é o melhor amigo e defensor das cabeças inglesas que, em caso de faltar, seriam inelutavelmente ameaçadas pela corda. Esse baço é tão débil e tão tenro, segundo parecer dos juízes anglo-hindus, que basta um peteleco no ventre dos aborígines, basta tocar-lhes delicadamente com o dedo para que desfaleçam e morram. A imprensa hindu, desde muito tempo, realiza ruidosa campanha com o tema dessa fragilidade do spleen, desconhecida até a chegada dos ingleses, que chega a entristecer os ingleses... É impossível, dizem, roçar um rajah sem que imediatamente, e como feito de propósito, estoure seu baço. Os caminhos tortuosos que o governo inglês segue na Índia estão cheios de espinhos (nota de Blavatsky).]
É certo que as perdas provocadas por tal prestígio nas fileiras da plebe são compensadas pelo constante crescimento da tribo dos euro-asiáticos. Essa raça bastante feia de “nativos” representa um dos símbolos mais objetivos e felizes da ética ensinada pelos civilizados aos hindus, seus escravos meio selvagens. Os euro-asiáticos foram postos no mundo pelos ingleses, com a ajuda dos holandeses, franceses e portugueses.
Constituem a coroa e o imperecível monumento das atividades dos “pais” plácidos da
“East India Company”. Ditos “pais”, amiúdo, travam relações legítimas e ilegítimas com as mulheres indígenas (a diferença entre as uniões, legais ou não, é mínima na Índia; baseia-se na fé dos esposos e o grau de santidade das caudas das vacas). Mas este último elo das relações amistosas entre as raças altas e baixas quebrou-se por decisão própria.
Hoje, para alegria dos hindus, os ingleses só olham com repugnância suas esposas e filhos. Essa repulsa, é verdade, só é superada pela profunda aversão sentida pelos indígenas à vista das inglesas decotadas. Duas terças partes da Índia acreditam ingenuamente no boato difundido pelos brâmanes, segundo o qual os “brancos” têm essa cor pela lepra.
Mas não é esse o caso; trata-se do “prestígio”. Esse monstro nasceu depois da tragédia de 1857. Varrendo com suas reformas todas as pegadas da Índia inglesa comercial a Anglo-Índia oficial cavou entre ela e os indígenas um abismo tão fundo que os milênios não chegarão a preenchê-lo. A despeito do ameaçador espectro do prestígio britânico o abismo se faz cada dia mais amplo e a hora chegará em que engolirá uma das raças, seja a raça negra ou a branca. Assim o “prestígio” não chega a ser outra coisa que uma medida de autodefesa.
E agora posso voltar à situação dos habitantes de Kuimbatur em 1818. Entre dois fogos, o prestígio dos senhores terrestres e o supersticioso espanto dos amos do inferno e sua vingança, os dravidianos viram-se esmagados debaixo dos cornos de um atroz dilema. Não transcorreu uma semana quando os Saab ingleses, tendo deixado aos habitantes do povoado a doce esperança de que a tormenta pudesse se dissipar, regressaram ao Metropolam, aos pés do Nilguiri. E essa vez os ingleses deixaram ouvir o trovão da seguinte declaração; em três dias chegariam os soldados da guarnição e outros agrimensores, e esse destacamento empreenderia a ascensão dos cumes sagrados das Montanhas Azuis.
Após ouvir essa terrível notícia vários lavradores se condenaram à Dcharna (morte pela fome) frente à porta do Saab, com a intenção de prosseguir essa greve até o dia em que os ingleses, mais compreensivos, prometessem renunciar a seu propósito. Os munsifs tendo rasgado as vestes, gesto que não lhes requer muitos esforços, cortaram o cabelo de suas mulheres e as obrigaram como sinal de desdita social e dolo geral a arranhar os rostos até o sangue. Naturalmente não devia alcançar senão as mulheres. Os brâmanes liam conjurações e mantrans em voz alta, enviavam mentalmente os ingleses, com suas intenções blasfematórias, ao Narak, a todos os diabos. Durante três dias Metropolam retumbou com os gritos e lamentos. Em vão: o que foi feito, está feito!
Após ter equipado um grupo de valentes, escolhidos entre os membros da
“Company”, os novos Cristóvãos Colombo resolveram pôr-se a caminho, sem guia algum. O
povoado ficou vazio como depois de um terremoto; os indígenas fugiram aterrorizados e os agrimensores não tiveram outra saída que procurar eles mesmos o caminho da cascata. Extraviaram-se e regressaram. Puderam apoderar-se de dois malabarenses enfraquecidos e declararam que estavam prisioneiros: “Conduzam-nos e lhes daremos ouro; neguem-se e irão de qualquer maneira, pois os arrastaremos pela força. E depois, em lugar de ouro terão o cárcere”. Naqueles abençoados dias em que reinavam os bondosos “pais” daCompany a palavra “cárcere” em Madras e em outras presidências era sinônimo de tortura. Esse gênero de suplício tem lugar ainda hoje, estamos cientes de provas recentes, mas naquela época a denúncia do menor escriba pertencente à raça superior era suficiente para condenar o indígena à tortura. A ameaça produziu o efeito desejado. Os desditados malabares, com a cabeça baixa guiaram os europeus até Kolakambe.
Os fatos que logo aconteceram não deixam de ser estranhos, se é que são verdadeiros: porém dessa verdade não se pode duvidar, pelo informe oficial dos dois agrimensores ingleses. Antes de os ingleses chegarem à cascata, numa rampa, um tigre pulou e arrebatou um dos malabares apesar de sua extrema e pouco apetitosa magreza, e isso ocorreu antes que um dos caçadores tivesse tempo de perceber o animal. Os gritos do infeliz despertaram a atenção demasiado tarde: “Ou as balas não fizeram alvo, ou mataram a vítima, que desapareceu com o raptor como se os dois se tivessem metido debaixo da terra”, lemos no informe. O segundo indígena, que havia chegado à outra viração da rápida corrente, a ribeira “proibida”, a uma milha mais ou menos da cascata, morreu bruscamente, sem qualquer causa aparente. Sucedeu no mesmo lugar onde os agrimensores tinham passado a noite de sua primeira ascensão. Evidentemente o terror o matou. É curioso ler a opinião de uma testemunha a respeito dessa terrível coincidência.
No Correio de Madras, de 3 de novembro de 1818, um dos funcionários, Kindersley, escrevia:
“Após se ter assegurado da morte real do negro, nossos soldados, mais ainda os supersticiosos irlandeses, ficaram extremamente perturbados. Mas Whish (nome do segundo agrimensor) e eu compreendemos logo que recuar era desonrar-se inutilmente, converter-se em zombaria perpétua de nossos colegas e fechar durante séculos a entrada
das montanhas do Nilguiri e as suas maravilhas (se existiram verdadeiramente) a outros ingleses. Resolvemos prosseguir nosso caminho sem guias, tanto mais quanto os malabarenses e seus compatriotas viventes não conheciam melhor que nós o caminho além da cascata”.
Vem então a descrição detalhada de sua difícil ascensão às montanhas, da escalada dos penhascos completamente perpendiculares, até o momento no qual se avistam acima das nuvens, quer dizer, além do limite de “eterna bruma”, e divisaram a seus pés as movediças ondas azuis. Como relatarei depois de tudo que acharam os ingleses nessas alturas, e já que D. Sullivan, coletor do distrito de Kuimbatur, relata os fatos em cartas ao governo, que o enviou depois para realizar um inquérito formal, contentar-me-ei, para evitar qualquer repetição, com o relato superficial e breve das aventuras principais dos dois agrimensores.
Os ingleses subiram mais alto, longe das fronteiras das nuvens. E então encontraram uma enorme boa constrictor. Um deles, na semi-obscuridade, caiu bruscamente sobre um objeto brando e viscoso. Esse “objeto” moveu-se, ergueu-se com muito barulho de folhas amassadas e se mostrou tal qual era realmente, interlocutor bastante desagradável. A boa se enrolou à maneira de saudação, em volta de um dos supersticiosos irlandeses e antes de receber algumas balas na garganta aberta em par, conseguiu apertar Patrick em seu frio abraço com tanta força que o desditoso morreu em poucos minutos. Após ter matado esse monstro, não sem dificuldade, e tendo medido a pele do animal, viram que a serpente tinha comprimento de vinte e seis pés.
Logo foi preciso cavar um túmulo para o pobre irlandês; essa tarefa foi tanto mais difícil porque os ingleses só tiveram tempo de arrancar o corpo aos que se amontoavam, acudindo de todas as partes. Ainda hoje se mostra o túmulo; encontra-se embaixo de um penhasco, algo mais acima que Kunur. Os primeiros colonos britânicos se cotizaram e enfeitaram o lugar com um monumento conveniente, em memória “ao primeiro pioneiro que achou a morte na expedição à montanha”.
Nada perpetua a lembrança dos “negros”, se bem que eram por direito as
“primeiras” vítimas da ascensão e os primeiros pioneiros ainda que involuntários.
Após ter perdido dois peões negros e um homem branco os ingleses continuaram escalando e encontraram uma manada de elefantes, que estavam empenhados numa
batalha acirrada. Felizmente os animais não perceberam a chegada dos estrangeiros, por isso não os molestaram. Em troca, sua aparição produziu a imediata fuga do destacamento espantado. Quando o grupo britânico quis reunir-se outra vez não se encontrou mais que pequenos grupos de dois ou três homens. Vagaram assim a noite toda no bosque, sete soldados regressaram a diferentes horas do dia seguinte à aldeia abandonada na véspera com muita presunção. Três europeus desapareceram sem deixar pegada alguma.
Quando ficaram sós Kindersley e Whish vagaram pelas vertentes da montanha durante vários dias subindo até os cumes ou baixando outra vez para desfiladeiros.
Tiveram de se alimentar com cogumelos e bagas que encontraram abundantemente.
Todas as noites os rugidos dos tigres e o barrido dos elefantes obrigaram a buscar refúgio em árvores altas e passar a noite acordados, trocando-se na guarda e esperando a morte de um momento para outro. Os “devas” e outros habitantes misteriosos, guardiões das cavernas “encantadas”, manifestaram-se assim desde o começo. Os desafortunados exploradores quiseram mais de uma vez descer ao povoado; mas a despeito de todos os seus esforços e ainda que descessem em linha reta, encontravam no caminho tais obstáculos que eram obrigados a mudar de rumo. E quando queriam rodear uma elevação ou um penhasco, caíam numa caverna sem saída. Seus instrumentos e todas as suas armas, salvo o fuzil e as pistolas que levavam, tinham ficado em mãos dos soldados.
Assim era impossível orientar-se, achar o caminho de regresso; só restava subir, subir, sempre mais alto. Se lembrarmos que, pelo lado de Kuimbatur, o Nilguiri se levanta em degraus de rochas perpendiculares até 5000 e 7000 pés por cima do vale de Uttakamand, e que muitos penhascos formam terríveis cumes, e mais, que os agrimensores haviam escolhido precisamente esse caminho, é fácil imaginar todas as dificuldades que tiveram de superar. E, no entanto subiam pela montanha; a natureza parecia cortar-lhes todas as vias de retorno. Muitas vezes tiveram de trepar numa árvore para saltar acima dos despenhadeiros para a rocha seguinte.
Finalmente, no nono dia de sua viagem e depois de perderem toda a esperança de achar nessas montanhas outra coisa que a morte, resolveram intentar outra vez a descida, seguindo um caminho reto e evitando na medida do possível qualquer atalho que os
afastasse da linha reta. Queriam antes de tudo chegar ao cume que tinham pela frente, com a finalidade de examinar as imediações e reconhecer melhor o caminho que teriam de seguir. Encontravam-se então numa clareira, não longe de uma colina bastante elevada e que lhes pareceu de leve pendente, com pequenas rochas no cume. Para chegar à colina perecia-lhes que um simples percurso era suficiente, pois não viam qualquer obstáculo exterior. Para surpresa dos agrimensores a subida levou duas horas; esgotaram as últimas forças.
Coberto de espesso pasto que se chama aqui de “acetinado”, o terreno da ladeira fácil mostrou-se tão escorregadio que os ingleses desde os primeiros passos tiveram que subir a quatro patas, aferrando-se ao pasto e às moitas com a finalidade de não rolar.
Subir por semelhantes colinas parecia-lhes escalar uma montanha de vidro. Finalmente chegaram ao cume depois de esforços incríveis e caíram esgotados aguardando “o pior”, como Kindersley escreveu.
Era a célebre “colina dos sepulcros”, conhecida hoje em toda a comarca de Uttakamand; chama-se cairns na região. Esse nome druídico convém melhor ao caráter desses monumentos que pertencem a uma antiguidade desconhecida, mas muito longínqua e que os agrimensores tomaram por rochas. Numerosas elevações da cadeia do Nilguiri estão também lotadas de semelhantes túmulos. É vão discutir sobre esse particular; sua origem e sua história se perdem numa bruma tão impenetrável como a dos povos que moram nas misteriosas montanhas. Contudo, enquanto nossos heróis descansavam falaremos desses monumentos; o relato será breve.
Quando, vinte anos após esses sucessos, se realizaram as primeiras escavações os europeus encontraram em cada sepultura uma grande quantidade de utensílios de ferro, bronze e barro, estátuas de forma extraordinária e ornamentos metálicos, obras rústicas.
Essas estatuetas – evidentemente ídolos -, esses enfeites, esses instrumentos, não lembravam em absoluto os objetos análogos empregados noutros lugares da Índia e outras nações. As obras de argila têm aparência particularmente bela; parecia ver-se nelas os protótipos dos répteis (descritos por Bérose) que se moviam pelo caos no tempo da criação do mundo. No que concerne às próprias tumbas, quanto ao que se conhece da época em que foram construídas, dos obreiros que as fizeram e da raça cujo último refúgio fora na terra, nada se pode dizer; impossível supor algo, pois todas as hipóteses
são imediatamente destruídas por este ou aquele argumento irrefutável. O que significam essas estranhas formas geométricas feitas com pedra, osso ou argila, o que querem dizer dodecaedros, esses triângulos, esses pentágonos, hexágonos e octógonos muito regulares e finalmente essas imagens de lama com cabeça de carneiro ou de asno e corpo de pássaros?
Os sepulcros, isto é, os muros que rodeiam as tumbas, têm sempre uma forma oval e sua altura varia entre um metro e meio e dois metros, construídos com enormes pedras não gravadas e sem cimento algum. O muro rodeia sempre uma tumba cuja profundidade é de quatro a seis metros, coberta por uma abóbada bastante bem desenhada e construída em panteões, pois os séculos os têm coberto de terra e pedras. A forma dos sarcófagos, semelhante exteriormente à dos sepulcros muito antigos noutras partes do mundo, não nos revela, porém, coisa alguma que possa esclarecer sua origem.
Monumentos semelhantes encontram-se na Bretanha, noutras regiões da França, no país de Gales e na Inglaterra, assim como nas montanhas do Cáucaso. Naturalmente os sábios ingleses em suas explicações não puderam deixar de mencionar os partos e os citas que evidentemente deviam possuir a dádiva de ubiqüidade. Mas os restos arqueológicos que ali encontramos não têm absolutamente algo de cita; ademais, até agora não se encontraram esqueletos nem objetos semelhantes a armas. Também nenhuma inscrição, ainda que se exumassem pranchas de pedra mostrando indefinidas pegadas, nas esquinas, que lembravam os hieróglifos dos obeliscos de Palenque e de outras ruínas mexicanas.
Entre as cinco tribos das montanhas do Nilguiri e os seres pertencentes às cinco raças totalmente diferentes entre si ninguém conseguiu dar a menor informação a respeito desses sepulcros que todo mundo desconhecia. Os toddes – a tribo mais antiga das cinco – também nada sabem a respeito. “Esses sarcófagos não são nossos e não podemos dizer a quem pertencem. Nossos pais e nossas primeiras gerações os acharam aqui, ninguém os construiu em nossa época”. Tal é a invariável resposta dos toddes aos arqueólogos. Se evocarmos a antiguidade que se atribuem os toddes podemos chegar à conclusão de que nessas tumbas enterravam os antepassados de Adão e Eva. Os ritos fúnebres diferem totalmente em cada uma das cinco tribos. Os toddes incineram os seus mortos, com seus búfalos favoritos; os mulu-kurumbes os enterram sob as águas; os
errulares os amarram em cima das árvores.
Se os caçadores extraviados se houvessem recobrado e examinado os arredores que se estendiam em torno deles por todos os lados, numa distância de várias dezenas de milhas, certamente se teriam adiantado à minha descrição de um dos mais maravilhosos panoramas da Índia. Pois se encontravam então – ignorando-o – no cume mais elevado dessas montanhas, com exclusão do Pico de Ioddabet, chamado pelos ingleses, não sei por quê, Doddibet. Custa imaginar e menos ainda descobrir os sentimentos que agitavam então os dois filhos de Albion, cujos olhos contemplavam esse grandioso quadro. É de supor que nada semelhante ao entusiasmo de um artista ou de um membro do “clube alpino” achasse cabimento em seus corpos desfalecidos. Tinham fome, estavam meio mortos de cansaço e esse estado físico domina sempre, em circunstâncias parecidas, o elemento espiritual de nossa desditosa humanidade. Se – como hoje fazem amiúde seus descendentes, sessenta anos depois deles – tivessem chegado lá em cima a cavalo ou carruagem com molas, com uma dezena de cestos cheios de alimentos para um gostoso piquenique, teriam seguramente experimentado o êxtase que sentimos ante o novo mundo que perece estender-se à olhada dos homens naquelas alturas. Mas naquela época se assinalava uma hora crítica para toda a presidência de Madras, para os dois ingleses e também para nós; se os dois agrimensores tivessem morrido na montanha hoje não se salvariam, todos os anos, centenas de vidas, e nosso verídico relato não se teria escrito...
Como esse cume se acha extremamente ligado aos sucessos que exporei à continuação peço vossa permissão para descrevê-lo e expressar, na falta de uma descrição melhor, meu sentimento pessoal. É difícil para quem subiu uma só vez na vida a “colina dos sepulcros” esquecê-la logo, e quem escreve estas páginas realizou mais de uma vez essa façanha hercúlea; a ascensão da montanha por esse caminho escorregadio...
Assim, apresso-me a formular uma reserva e uma confissão; realizava sempre esse feito heróico comodamente sentada numa liteira, por cima de doze cabeças dos cules sempre sedentos, prontos na Índia a arriscar a vida por um punhado de moedas de cobre. Na Índia inglesa nada custa acostumar-se a tudo, até se converter em incorrigíveis assassinos de nossos desditosos irmãos inferiores, dos cules secos, da cor e da magreza do acaju.
Mas quando se trata das “colinas dos sepulcros” desejamos e exigimos circunstâncias atenuantes, pois na verdade somos culpados frente à nossa consciência. Toda magia do
mundo, os encantos da natureza que aguardam o viajante no cume, pode paralisar qualquer precaução não só a respeito dos “baços” do próximo como do próprio.
Intentei representar-vos esse quadro. Subi a esse cume, alcancei 9000 pés acima do nível do mar. Vede esse espaço safirino numa circunferência de quarenta milhas em volta do cimo, até o horizonte das ribeiras de Malabar e contemplai; a vossos pés uma imensidão que compreende duzentas milhas de largura e de longitude. Assim olhamos à direita, à esquerda, ao sul, ao norte; ela ondulava como um oceano sem margens de elevações vermelhas e azuis, cumes rochosos, agudos, dentados, arredondados, com formas estranhas e fantásticas; assim como um mar enfurecido onde a safira e a esmeralda se confundem na intensa irradiação do sol tropical, na hora de um enorme ciclone, quando toda a massa líqüida está coberta de mastros de navios que soçobram ou que naufragaram. Assim como o oceano fantasma nos aparece em sonhos...
Olhai para o norte. O cume da serrania do Nilguiri, elevando-se a 3500 pés acima dos planos montanhosos de Maisur, lança-se no espaço numa gigantesca ponte de quinze milhas de largura e quarenta e nove de comprimento, como surgindo do Jellamulai piramidal dos ghats ocidentais e se atira a voar, às loucas, em grades de leves pendentes, com resplandecentes abismos em ambas as vertentes, até os redondos colados de Maisur, que espumam em brumas de aveludado azul escuro.
Lá, batendo com as agudas penhas de Palkar, essa prodigiosa ponte cai brusca e perpendicularmente, exceto uma faixa montanhosa muito estreita que une uma serrania à outra, esmiúça-se em pequenas rochas e se muda em uma chuva de pedras, que rugem e uivam em uma torrente cujas águas rolam raivosas, querendo alcançar um límpido rio nascido nas poderosas cavernas da montanha.
E contemplai agora o lado meridional da “colina dos sepulcros”. Numa extensão de cem milhas que encerra toda a zona sudoeste das “Montanhas Azuis”, sombrias florestas dormem na impoluta majestade de sua beleza inacessível e virgem, junto aos infranqueáveis lameiros de Kuimbatur, cercados pelos montes de Kchund de uma cor vermelho-tijolo. Mais longe, à esquerda, ao oriente desenroscando-se como uma serpente de pedra a crista do Ghat se alongando entre duas fileiras de elevadas penhas, vulcânicas e escarpadas. Coroados por bosques de abetos que o vento despenteia e torce em todos os sentidos esses imensos anfiteatros de espiralados cumes dentados oferecem
à vista, estranho espetáculo. A força vulcânica que os arrastou parecia querer dar à luz algum protótipo rochoso do homem por vir; pois estas rochas têm forma humana.
Através da bruma que se agita transparente como a fumaça esses grandiosos desertos se movem correndo uns atrás dos outros formar-se a imagem de antigas penhas cobertas de secular musgo que pulam e cavalgam no espaço. Confundem-se, batem-se, adiantam-se e se destroçam umas contra as outras e apressam-se, parecidas a escolares que desejam fugir dos estreitos desfiladeiros para viver nos vastos espaços e em liberdade... E em redor e muito alto, longe e embaixo, aos pés mesmo do turista que está na “Colina dos Sepulcros”, em primeiro plano estende-se e se ergue uma imagem muito distinta; serenidade, igual natureza, divina beatitude...
Em verdade temos aqui um primaveril idílio de Virgílio, rodeado pelos ameaçadores quadros do “inferno” de Dante. Outeiros de esmeralda esmaltados com flores, ornamentando a clara face do vale montanhoso onde crescem as embalsamadas ervas e o alto e sedoso pasto. Mas em lugar dos cordeiros de nevada brancura, dos pastorezinhos e pastorazinhas, um rebanho de enormes búfalos pretos como o alcatrão, e longe a imóvel estátua feita, ao parecer, de bronze; a atlética silhueta de um jovem tiralli (sacerdote) com comprida cabeleira encrespada...
Prevalece neste cume uma eterna primavera. As geladas noites de dezembro e janeiro não podem expulsá-la, passado meio-dia. Ali tudo é frescor, tudo reverdece, tudo floresce exalando perfumes por todo o ano. E as “Montanhas Azuis” aparecem nesse cume com todo o encanto de um adolescente que até sorri, através de suas lágrimas, e ainda mais belo, talvez, na época das chuvas que nas outras épocas do ano (14). [(14) Na época das chuvas, quando diluvianas tormentas se lançam contra o pé das montanhas, só alguns pingos de chuva caem nas alturas, durante algumas horas do dia, e por intervalos (nota de Blavatsky).] De outra maneira, nesses cumes tudo parece nascer como se viesse ao mundo pela primeira vez. A furiosa torrente da montanha ainda está no berço. Brota de sua pedra nascente num fio d’água muito fino que logo escapa em gorjeante arroio de transparente fundo, no qual se acham os átomos que constituirão as formidáveis rochas futuras. Sob seu duro aspecto a natureza se mostra como o símbolo pleno da vida humana; pura e clara nos cumes, semelhante à adolescência e severa, atormentada mais abaixo, assim como é a vida nas suas lutas fatais.
Mas sob o céu, como no vale, a flora prospera o ano todo, oferecendo as íris das cores da paleta mágica da Índia. Para aquele que sobe das ribanceiras terrestres às
“Montanhas Azuis” tudo parece extraordinário, estranho, selvagem. Ali o cule enfraquecido, da cor de acaju, se transforma num todde de elevada estatura, de pálido rosto que, assim como uma aparição do antigo mundo grego ou romano, com o perfil altaneiro, majestosamente arroupado numa toga de branco linho que ninguém leva, em outros lugares da Índia, contempla o hindu com o condescendente desafio de um touro que olha pensativamente um sapo preto. Lá o gavião dos terrenos baixos, de patas amarelas, converte-se em poderosa águia dos montes; e as secas estípites e as bardanas queimadas os cactos dos campos de Madras crescem em gigantescas ervas, em bosques inteiros de juncos, onde o elefante pode brincar audaciosamente no esconde-esconde, sem recear o olhar do homem.
O rouxinol russo canta nessas alturas e o cuco põe ovos no ninho do mainá do sul, de bico amarelo, ao invés do ninho de sua amiga setentrional, a gralha tonta, que nesses bosques se transforma num corvo cruel e preto como a fuligem. Os contrastes surgem por todos os lados, as anomalias aparecem em todos os lugares que se possa olhar. Da deusa fronde da macieira silvestre surgem nas claras horas do dia melodiosos sons, gorjeios, cantos dos pássaros desconhecidos nos vales da Índia; no entanto, nos sombrios bosques de pinheiro ressoam por momento os pressagos rugidos do tigre e do chitah e os mugidos do búfalo selvagem...Muitas vezes o solene silêncio que reina nos cumes é quebrado por murmúrios misteriosos e doces, estremecimentos e, bruscamente, por um grito rouco... Logo tudo cala outra vez, desvanece-se nas embalsamadas ondas do puro ar dos cumes e por muito tempo renasce o silêncio que nenhum ruído interrompe.
Naquelas horas de profundo apaziguamento o ouvido atento, amante da natureza, é capaz de ouvir o latejar de seu robusto e poderoso pulso, percebendo sutilmente o movimento perpétuo na manifestação muda da gostosa vida das miríades de formações visíveis e invisíveis.
Àquele que pode morar neles, custa esquecer os Nilguiri Azuis! Naquele maravilhoso clima a Mãe Natureza, juntando suas forças disseminadas, concentra-se numa única potência que dá nascimento a todos os protótipos de suas grandes criações.
Parece alternar na sua produção, quer a das zonas setentrionais, quer a das zonas meridionais do globo terrestre. Assim anima despertando à atividade, mais tarde volta a dormir, cansada e preguiçosa. Vê-a meio sonolenta na impoluta majestade de uma beleza cintilante de raios solares, embaladas pelas harmoniosas melodias de todos os reinos.
Encontra-se ativa e selvagem lembrando seu poderio graças às colossais floras de suas selvas tropicais e o rugido de suas feras gigantes.
Outro passo na zona oposta e a Natureza cai novamente, parecendo esgotada por um esforço extremo e dorme deliciosamente nos tapetes das violetas do Norte, de miosótis e lírios... E nossa Mãe, poderosa e grande, está deitada silenciosa e imóvel, acariciada pelos frescos ventos e as tenras asas das borboletas e outros lepidópteros muito estranhos e de beleza encantadora.
Hoje o pé desta colina está rodeado por tríplice cerco de bosquezinhos de eucalipto. Esses bosquezinhos devem sua existência aos primeiros plantadores europeus (15). [(15) Há quarenta anos, o general Morgan com três libras de sementes dessa árvore, enviadas da Austrália, lançou-as em todas as regiões vazias e nos vales ao redor de Uttakamand (nota de Blavatsky).]
Aquele que não conhece o admirável Eucalyptus globulus, originário da Austrália, cujo crescimento é mais vigoroso em três ou quatro anos que o de qualquer outra árvore em vinte anos, ignora o essencial encantamento dos jardins. Sendo um incomparável meio para purificar o ar de todos os miasmas, tais bosques tornam ainda mais saudável o clima do Nilguiri. Todos os indígenas que se aturdem com as carícias demasiado monótonas e ardentes da natureza hindu e também os representantes da Europa na presidência de Madras só tem uma impaciência; a de buscar a saúde e o repouso no seio mesmo desta Natureza, nas Montanhas Azuis; e estas nunca enganam; ao sintetizar como um imenso ramo todos os climas, todas as flores, a zoologia e a ornitologia das cinco partes do mundo, o gênio dessas montanhas oferece seus tesouros, em nome de sua rainha, ao viajante fatigado que sobe as Montanhas Azuis, o Nilguiri.
As “Montanhas Azuis” representam o cartão de visitas cheio de títulos e méritos que a Natureza, madrasta cruel do europeu na Índia oferece a esse pobre sofredor em sinal de plena reconciliação.
A hora da conciliação chegou finalmente para nossos desditados heróis.
Quebrantados e extenuados, sem forças, apenas podiam manter-se sobre os pés.
Kindersley, mais forte, tinha sofrido menos que Whish. Após descansar um pouco deu a volta por cima; queria ver através do caos de bosques e de penhas o caminho mais fácil para descer, quando acreditou perceber a fumaça não longe de onde estava. Kindersley se apressou a regressar ao amigo para anunciar essa boa notícia, quando de súbito se deteve, estupefato... À sua frente estava Whish, em pé. Meio virado de costas, pálido como um morto e tremendo de febre. O braço estendido, Whish assinalava com gesto convulsivo um lugar muito perto.
Seguindo a direção do dedo de Kindersley viu a algumas centenas de pés primeiramente uma casa, depois homens. Essa vista, que em outros momentos os alegraria, provocou neles – não poderiam dizer o por quê – indizível terror. A casa era estranha, de forma completamente desconhecida! Não tinha janelas nem porta, era redonda como uma torre; rematava-a um telhado piramidal, embora terminasse em forma de abóbada. Quanto aos seres humanos os dois ingleses vacilaram, em princípio, considerá-los homens. Ambos se acharam instintivamente atrás de um mato cujos galhos afastaram e olharam com olhos desorbitados as estranhas silhuetas que se moviam em frente.
Kindersley fala de um “bando de gigantes rodeados por vários grupos de anões horrivelmente feios”. Esquecendo sua anterior temeridade e a forma como zombavam dos chicaris os ingleses estavam prontos a considerá-los como gênios e gnomos dessas montanhas. Mas não tardaram saber que viam ali os grandes toddes, os baddagues, seus vassalos e adoradores, e os pequenos servidores desses vassalos, os selvagens mais feios do mundo; os mulu-kurumbes.
Os ingleses não tinham mais cartuchos, haviam perdido uma de suas espingardas e se sentindo muito fracos para resistir a um ataque dos anões.
Prepararam-se, pois para fugir da colina, deixando-se deslizar pelo chão, como bolas, quando de repente notaram outro amigo que os surpreendia pelo flanco.
Macacos que tinham deslizado até os ingleses, sentados um pouco mais alto que eles, acima de uma árvore, abriram fogo com um projétil bastante desagradável: lama.
Sua tagarelice e seus gritos de guerra não tardaram a chamar a atenção de um rebanho de enormes búfalos que pastavam nas proximidades. Esses animais por sua vez começavam
a bramir, levantando a cabeça em direção ao cume da colina. Finalmente os próprios toddes puderam perceber nossos heróis, pois após alguns minutos apareceram repugnantes anões e se apoderaram dos dois ingleses quase mortos. Kindersley, como ele mesmo descreve, “desfaleceu por causa do fedor que exalavam esses monstruosos selvagens”. Para surpresa dos dois amigos os anões não os comeram nem sequer fizeram algum mal. “Passaram todo o tempo pulando e dançando à nossa frente e riam sem parar”, diz Kindersley. “Os gigantes, quer dizer, os toddes, comportavam-se totalmente como gentlemen” (sic)! Após satisfazer sua curiosidade evidentemente natural pela presença, como nós soubemos mais tarde, dos primeiros homens brancos que haviam visto, os toddes os fizeram beber um excelente leite de búfalo, serviram-lhes queijos e cogumelos; em seguida os deitaram na casa piramidal onde “estava escuro, mas o ar era seco e quente e onde dormiram com sono de pedra até o dia seguinte”.
Os ingleses inteiraram-se mais tarde que os toddes haviam passado a noite toda em conselho solene. Alguns anos depois os toddes contaram a Mister Sullivan o que tinham experimentado nessas memoráveis horas (continuavam chamando Sullivan, que tinha ganhado sua confiança (e seu amor, de seu “irmão paterno” (16), palavras que expressam sua veneração maior depois da de”pai”). [(16) Por razões que anunciarei mais adiante os toddes não reconheciam parente algum, salvo o pai, e ainda numa forma completamente nominal. O todde considera pai quem o adota (nota de Blavatsky).]
Os toddes disseram-lhe que por muito tempo esperavam “os homens que moram nas terras do sol poente”. Sullivan perguntou-lhes como haviam conseguido prever sua chegada. E os toddes deram a ele, sempre, esta resposta invariável: “Os búfalos disseram-nos isto , muito tempo atrás; eles sempre sabem de tudo”.
Os anciões essa noite tinham decidido a sorte dos ingleses e virado assim uma outra página de sua própria história.
Na manhã seguinte, ao perceber que os ingleses tinham dificuldade para andar os toddes deram ordens a seus vassalos; fabricar padiolas para que os baddagues pudessem transportá-los. Os ingleses viram essa manhã que os toddes se despediam dos anões.
“Depois e até o dia do nosso regresso ao Nilguiri, não nos vimos mais e não os achamos em parte alguma”, conta Kindersley. Mais tarde se soube, após os relatos do missionário Metz, que não faltavam motivos para os toddes temerem, por seus hóspedes,
a presença hostil dos mulu-kurumbes: haviam-lhes ordenado regressar às suas cavernas dos bosques proibindo-lhes severamente olhar os homens brancos. Essa proibição, estranha em verdade, explicou-o o missionário pelo fato de que “o olhar do kurumbe mata o homem que o teme e não está acostumado a ele”. E como a aterrorizada repulsa dos ingleses pelos anões tinha sido percebida pelos toddes desde a chegada dos caçadores os gigantes proibiram logo aos kurumbes olhar os homens brancos.
Desditosos de alma grande! Quem sabe quantas vezes, depois, os anciões se arrependeram de não ter abandonado aqueles homens ao mau olhado dos mulu-kurumbes!
Pois o destino do Nilguiri dependia de seu regresso à Madras e de seu informe. Mas
“assim os búfalos tinham decidido... e eles sabem!”.
Levados com lentidão, suavemente, pelos baddagues, sobre padiolas, surpresos e naturalmente alegres por sua feliz e inesperada liberação os ingleses tiveram oportunidade de bem estudar desta vez o caminho e examinar melhor os lugares circundantes. Ficaram atônitos ante a diversidade da flora que reúne quase todas as famílias dos trópicos às dos climas setentrionais. Os ingleses contemplavam velhos pinheiros gigantes, de cujos rudes troncos não se viam as raízes cobertas por aloés e cactos, as violetas cresciam aos pés das palmeiras e bétulas de branca cortiça, os estremecidos álamos trêmulos refletiam-se nas calmas e mudas águas de uma lagoa, junto à flor do loto, flor real do Egito e da Índia.
Encontraram em seu caminho os frutos de todos os países e bagas de toda a classe, das bananas às maçãs até as pinhas, morangos e framboeseiras. País da abundância, terra abençoada! As “Montanhas Azuis” são realmente uma das regiões escolhidas pela natureza para as suas exibições universais!
Durante a descida, centenas de regatos não cessavam de gorjear em volta dos viajantes; a água clara e sã surgia das fendas das penhas, os vapores levantavam-se dos mananciais minerais e de todas as coisas emanava um frescor que fazia muito os ingleses haviam esquecido na tórrida Índia.
Na primeira noite dessa viajem uma aventura bastante cômica ocorreu a nossos heróis. Os baddagues, após breve deliberação, se apoderaram bruscamente dos ingleses, despiram-nos completamente e apesar de sua desesperada resistência submergiram-nos na morna água mineral de uma lagoa e lhes lavaram as chagas e outras feridas. Logo os
sustentando, um após outro, nos braços cruzados por cima da água, justo onde o cálido vapor se desprendia, os baddagues entoaram um canto semelhante a uma conjuração, acompanhando-a com caretas e gritos selvagens, como Kindersley escreve: que o
“momento chegou no qual acreditamos seriamente que nos sacrificariam aos deuses dos bosques”.
Os ingleses erraram; mas só puderam se convencer da injustiça de suas suspeitas na manhã seguinte. Após esfregar-lhes os pés enfermos com uma espécie de ungüento preparado com argila branca e ervas sumarentas os baddagues cobriram com cobertores os dois caçadores e “dormiram literalmente por cima do vapor morno do manancial”.
Quando acordaram no dia seguinte os ingleses sentiam extraordinário bem-estar em todo o corpo e especialmente muito mais força nos músculos. Todas as dores que sentiam nas pernas e juntas haviam desaparecido como por toque de magia. Levantaram-se em boa saúde, fortalecidos.
“Verdadeiramente nos sentíamos envergonhados frente a esses selvagens de quem havíamos suspeitado injustamente”, relata Whish em carta a um amigo.
À tarde haviam chegado a um ponto tão baixo na ladeira que sentiram novamente o calor; os ingleses observaram então que tinham passado além do nível da bruma e se encontravam já na região de Kuimbatur.
Whish escreve que o seguinte fato os havia assombrado; ao subir a montanha, viam continuamente as pegadas de animais selvagens; ambos estavam em guarda e tomavam todas as precauções possíveis para não cair nas garras de um tigre, dar de frente com um elefante ou uma manada de chiuahs; “no entanto, ao regressar, o bosque parecia morto; os próprios pássaros deixavam ouvir seu canto na distância, sem voar perto de nós... nem sequer uma lebre vermelha saltou no caminho”. Os baddagues os levavam seguindo um caminho quase invisível, sinuoso, e parecia que nenhum obstáculo o interromperia. No preciso momento do pôr do sol, saíram do bosque e não tardaram a encontrar os Kuibatureses dos povoados disseminados ao pé da montanha. Mas os ingleses não puderam apresentar os seus guias. Quando divisaram à distância os cules que regressavam em grupo de suas tarefas os baddagues desapareceram instantaneamente, pulando de uma rocha para outra, igual a um bando de macacos atemorizados. Os ingleses, milagrosamente salvos, ficaram sós de novo. Agora se achavam no limite do
bosque; todo o perigo tinha desaparecido.
Interrogaram os aldeões e souberam que os baddagues acabavam de descer muito perto de Malabar, em Uindi, comarca diametralmente oposta a Kuimbatur.
Uma cadeia de montanhas os separava da cascata de Kolakambe e do povoado de onde tinham saído. Os malabareses os acompanharam até a estrada e para o jantar os ingleses foram acolhidos pelo munsif (dança) hospitaleira do povo. Na manhã seguinte conseguiram cavalos e chegaram perto da noite e sem que outra aventura lhes acontecesse à aldeia de onde haviam partido para atingir as encantadas montanhas, fazia exatamente doze dias.
A notícia do feliz retorno de saabs blasfemos, que regressavam da moradia dos deuses, difundiu-se pela aldeia e arredores com a rapidez de um raio.
“Os devas não haviam castigado os insolentes nem sequer tocado os ferings que acabavam de violar tão audaciosamente os céus fechados por séculos ao resto do mundo... Que significa isso? Acaso eram os escolhidos de Saddhu?...” Estas eram as palavras que se murmurava, multiplicadas, transmitidas de uma aldeia a outra até se converterem no mais extraordinário sucesso do dia. Os brâmanes guardavam silêncio.
Os anciões diziam: “Essa foi, desta vez, a vontade dos devas benditos; mas o que nos reserva o porvir? Só os deuses o sabem”. A emoção cruzou até bem longe as fronteiras do distrito. Multidões de dravidianos chegavam para prostrar-se ante os ingleses e render-lhes as honrarias que “os escolhidos dos deuses” mereciam...
Os agrimensores ingleses triunfavam. O “prestígio britânico” soltou raízes e se manteve firme por muitos anos, ao pé das “Montanhas Azuis”...
CAPÍTULO II
Até esta página e apesar dos dados que tomei dos relatos publicados por Kindersley e Whish o meu se parece a uma lenda. Como meu desejo, e para que não se suspeite do menor exagero da minha parte prosseguirei minha descrição fundando-me nas palavras do administrador de Kuimbatur do High Honourable Dr.Sullivan, extraídas dos informes que a East Índia Company publicou nesse mesmo ano. Assim nosso “mito”
tomará um caráter puramente oficial. Esta obra não vai aparecer, pois como se poderia supor até agora, na forma de uma importante passagem tirada da história um tanto fantástica dos caçadores famintos e quase moribundos, presas da febre, do delírio provocado pelas privações, ou como simples chamada à história inventada pelos supersticiosos dravidianos. Meu livro há de constituir o reflexo necessário dos informes de um funcionário inglês, a exposição de suas estatísticas relacionadas às “Montanhas Azuis”. Mister D. Sullivan viveu no Nilguiri e administrou durante muito tempo as cinco tribos. E a lembrança desse homem justo e bom perdurará por muito tempo; continua vivo nas colinas (1) imortalizadas por Utta Kamand, que havia construído, com seus floridos jardins, seu belo lago. E seus livros acessíveis a todos são o testemunho e confirmação de tudo quanto escrevo. O interesse de nossa narração não pode senão aumentar, graças a este chamado às autênticas declarações do antigo coletor de Kuimbatur.
[(1) Seu filho é conhecido em toda Madras; há alguns anos tem o cargo de um dos quatro membros do Conselho do Governo Geral de Madras e vive quase sempre nas montanhas do Nilguiri (nota de Blavatsky).]
Verifiquei, nas jornadas de minha estada pessoal do Nilguiri, a realidade das observações feitas acerca dos toddes e kurumbes por numerosos funcionários e missionários; comparei suas declarações e teorias aos dados dos livros de Mister Sullivan e às autênticas palavras do general Morgan e sua esposa, e respondo pela absoluta verdade de todos esses escritos...
Renovo este livro na hora em que os agrimensores regressavam à Madras após sua milagrosa salvação.
Os rumores relacionados à nova terra descoberta e a seus habitantes, sua
hospitalidade, e, sobretudo à ajuda prestada pelos toddes aos heróis ingleses cobravam tais proporções em sua ressonância universal que os “pais” despertaram e acreditaram que deviam atuar seriamente.
Enviou-se um correio de Madras à Kuimbatur. Essa viagem dura hoje doze horas; realizou-se em doze dias. E deu-se a ordem seguinte ao “governador” do distrito em nome das autoridades supremas: “Mister John Sullivan, coletor, tem o encargo de estudar a origem das estúpidas fábulas divulgadas a respeito das Montanhas Azuis, verificar sua autenticidade e logo escrever um informe às autoridades”.
O coletor organizou imediatamente uma expedição; não como a expedição dos agrimensores, simples porção de homens congregados a toda a pressa, que se dispersavam rapidamente, mas um contingente que se equipou como se tivera em vista uma viagem aos oceanos polares.
Seguia-os um exército de sipaios, com várias dezenas de elefantes de guerra, centenas de chitahs (2) de caça, de pôneis. [(2) Chitahs, animais domésticos para caçar javali, o urso e o veado. Todos os caçadores da Índia os empregam (nota de Blavatsky)]
Formavam a retaguarda duas dúzias de mestres de caça, ingleses. Levavam presentes; para os toddes, armas que nunca empregam, para os kurumbes, turbantes para os dias de festa, algo que não tinham usado uma só vez desde o dia de seu nascimento. Nada faltava. Levavam barracas e instrumentos: médicos que traziam uma farmácia completa sequer tinham esquecido os bois que deviam matar todos os dias e os prisioneiros indígenas para trabalhar a terra onde fosse necessário arriscar a vida, sacrificar existências humanas para fazer saltar rochas ou limpar caminhos. Os únicos que faltavam eram os guias autóctones; porque os homens dessa profissão voltariam a fugir de todas as aldeias. A sorte dos malabarenses, na primeira expedição, estava ainda viva em todas as memórias. “Talvez tenham que tomar conta os indígenas”, diziam os brâmanes aterrorizados e “até os ingleses e seu prestígio”, acrescentavam os dravidianos apavorados “pelo fato de os bara-saabs não sofrerem castigo”.
Três “grandes rajahs” enviaram embaixadas a Maisur, Vadian e Malabar com instruções de suplicar ao coletor que deixasse a salvo a região e suas numerosas povoações nativas. A cólera dos deuses, declaravam, contém-se algumas vezes, mas quando eclode se torna terrível. A profanação das santas alturas do Toddabet e
Mukkertabet podia ser seguida por terríveis desditas para o país inteiro. Sete séculos antes os reis de Tcholli e de Pandia, desejando apoderar-se das montanhas, haviam partido à frente de dois exércitos para guerrear com os devas, mas não tinham terminado de atravessar o limite da bruma quando foram esmagados com todas as suas tropas e bagagens por enormes rochas que caíram sobre eles. Esse dia viu tanto sangue derramado que as penhas se coloriram de púrpura numa extensão de várias milhas; mesmo a terra se tornou vermelha (3).
[(3) Efetivamente em algumas regiões, de modo especial em Uttakamand, as rochas e a própria terra têm a cor do sangue, mas isto se deve à presença de ferro e outros elementos. Quando chove o chão das ruas das cidades adquire uma cor alaranjado-vermelho (nota de Blavatsky).]
O coletor mostrou inquebrantável firmeza. É sempre difícil fazer um inglês ceder.
O britânico não acredita no poder dos deuses; pelo contrário, todo objeto cuja posse se presta a controvérsias deve pertencer-lhe por direito divino.
Assim, em janeiro de 1819, a caravana de Mister Sullivan se pôs a caminho e iniciou a ascensão da montanha pelo lado de Denaigukot, quer dizer, deixando de lado a cascata “portadora da morte”. E é aqui que os assombrados leitores poderão ler no Correio de Madras de 30 de janeiro e 23 de fevereiro, que reproduziu os informes do coletor. Abrevio e resumo:
...Comprazo-me em anunciar à most honourable, à East India Company e às Suas Excelências os senhores diretores que de acordo com ordens recebidas... (data etc) eu parti (todos os detalhes conhecidos)... para as montanhas. Foi-me impossível encontrar guias pois sob o pretexto de que essas elevações são o domínio dos seus deuses os aborígines me declararam que preferiam o cárcere e a morte a uma viagem além das
“brumas”. Assim equipei um destacamento de europeus e sipaios e em 2 de janeiro de 1819 começamos a ascensão na aldeia do Nenaigukot, situada a duas milhas abaixo o pé do “pico” do Nilguiri... Com a finalidade de conhecer o clima dessas montanhas, comprazo-me em incluir os quadros comparativos desde o primeiro até o último dia da nossa subida. Esses quadros revelam o seguinte fato: enquanto na presidência de Madras, entre 2 e 15 de janeiro, o termômetro marcava de 85o a 106o F o mercúrio permanecia em 50o F a partir de 100 pés acima do nível do mar, descendo à medida que se
aproximavam do cume e marcando só 32o F (0o Réamur) à altura de 8076 pés nas horas mais frias da meia-noite.
Hoje, muitos anos depois das primeiras expedições, quando as elevações nilguirianas estão cobertas de plantações européias, quando a cidade de Uttakamand conta com 12000 habitantes permanentes, quando todas as coisas estão ordenadas, conhecidas, o clima dessa admirável comarca constitui por si mesmo um fenômeno imprevisto, milagroso; a 300 milhas de Madras, a 11o do Equador, de janeiro a dezembro, evolui sempre, com uma diferença constante de 15o a 18o F nos meses mais frios e mais quentes do ano, desde a aparição até o por do sol, em janeiro como em julho, a 1000 como a 8000 pés de altura. Estão aqui as provas irrefutáveis das primeiras observações de Mister Sullivan:
O termômetro Fahrenheit marca a 2 de janeiro, a 1000 pés de altura; às 6 da manhã, 57o; às 8, 61o; às 11, 62o; às 14, 68o; às 20, 44o. A 8700 pés de altura o mesmo termômetro Farenheit assinala a 15 de janeiro. Às 6 da manhã, 45o; de meio-dia às 14, 48o; às 20, 30o; às 2 da madrugada, a água tinha uma leve capa de gelo. E isto em janeiro, a uns 9000 pés acima do nível do mar.
Embaixo, no vale, a 23 de janeiro, o termômetro assinalava às 8 da manhã, 83o; às 20, 97o; às 2 da madrugada, 98o.
Para que essas cifras não cansem demasiado o leitor dou fim a esta determinação do clima nilguiriano com um quadro comparativo da temperatura Farenheit de Uttakamand, capital atual das Montanhas Azuis, com as de Londres, Bombaim e Madras; Londres..............................50o F
Uttakamnd (7300 pés)......57o F
Bombaim............................81o F
Madras...............................85o F
Todo doente que fugia do escaldante calor de Madras em sua pressa por chegar às bem-feitoras montanhas sarava quase sempre. Nos dois primeiros anos que se seguiram à fundação de Uttakamand, seja de 1827 a 1829, entre os 3000 habitantes já estabelecidos na dita cidade e seus 1313 hóspedes de passagem só ocorreram 2 mortes.
Nunca a taxa de mortalidade de Uttakamand excedeu os ¼%; e lemos nas observações do comitê sanitário: “O clima do Nilguiri considera-se hoje, com muita razão, o mais
saudável da Índia. A perniciosa ação do clima tropical não persiste nessas alturas, exceto no caso de um dos órgãos principais do enfermo estar irremediavelmente perdido”.
Mister Sullivan explica do seguinte modo a ignorância secular na qual permaneciam sumidas as populações nativas que viviam perto do Nilguiri, a respeito dessa maravilhosa comarca:
“Os montes Nilguirianos estendiam-se entre 76o e 77o de longitude e entre 11o e 12o de latitude norte. A vertente setentrional continua sendo inacessível, por causa das rochas quase perpendiculares. Ao sul, até umas quarenta milhas do oceano, continuam cobertos ainda hoje de selvas impenetráveis porque é impossível atravessá-las; ao oeste e ao leste estão rodeados e cercados por penhas de agudo cume e pelas passagens de Khunda. Não é de estranhar, então, que por séculos o Nilguiri permanecesse completamente desconhecido do resto do mundo; além disso, na Índia, estava protegido contra qualquer invasão pela sua natureza totalmente excepcional, por muitos pontos de vista”.
“Juntas, as duas cadeias montanhosas, a do Nilguiri e a de Khunda, abrangem uma superfície geográfica de 268.494 milhas quadradas, cheias de rochas vulcânicas, vales, desfiladeiros e penhas”.
Por isso, após ter chegado ao nível de 1000 pés o exército de Mister Sullivan viu-se obrigado a abandonar os elefantes, arrastar todas as bagagens, pois era necessário subir cada vez mais alto escalando as rochas com a ajuda de cordas e polés. No primeiro dia três ingleses pereceram, no segundo sete indígenas, entre os prisioneiros, foram mortos, Kindersley e Whish que acompanhavam Sullivan, não puderam emprestar ajuda alguma.
O caminho que tão facilmente seguiam os baddagues, na descida, tinha desaparecido para sempre; toda a pegada parecia suprimida por encantamento; até o dia de hoje ninguém conseguiu encontrá-lo apesar de longos e minuciosos esforços. Os baddagues fingiam não compreender qualquer pergunta; evidentemente os aborígines não tinham a intenção de revelar aos ingleses todos os seus segredos.
Depois de ter triunfado sobre o principal obstáculo, as escarpadas penhas que rodeavam os montes do Nilguiri, semelhantes à muralha chinesa, após ter perdido os sipaios e quinze prisioneiros a expedição não tardou a se ver recompensada por todos os seus desgostos diante das dificuldades que ainda a aguardavam. Subindo passo a passo as
pendentes, cavando degraus nas rochas ou voltando a descer, sustentados por cordas, centenas de pés nos fundos precipícios, os ingleses chegaram por fim, no sexto dia de sua viagem, a um altiplano. Lá, na pessoa do coletor, a Grã-Bretanha declarou que as Montanhas Azuis eram território real. “A bandeira inglesa foi erguida sobre uma alta penha”, escreveu Mister Sullivan em tom alegre, “e os deuses nilguirianos se converteram em súditos de Sua Majestade Britânica”.
A partir desse momento os ingleses encontraram sinais de moradas humanas.
Achavam-se numa região de “majestosa e mágica beleza”, mas após algumas horas “esse quadro se desvanece bruscamente, como por milagre; encontramo-nos novamente cercados pela névoa. Tendo se aproximado imperceptivelmente a nuvem nos rodeou por todos os lados apesar de havermos franqueado, fazia muito – como acreditavam Kindersley e Whish – o limite das “brumas eternas”.
Nessa época a estação meteorológica do observatório de Madras não pode descobrir a natureza desse fenômeno estranho e atribuí-lo, como hoje, à sua verdadeira causa (4).
[(4) Durante as chuvas da monção, trazidas, sobretudo pelo vento do sudoeste, a atmosfera está sempre mais ou menos carregada de densos vapores. A névoa, que se forma ao começo dos cumes, invade as rochas situadas ao pé do Nilguiri à medida que o calor do dia deixa espaço ao úmido frescor da noite e os vapores descendem. É preciso agregar a isto a evaporação constante dos lameiros dos bosques onde as árvores espessas permitem que o chão conserve a umidade e a lagoa e os lamaçais não seguem, como nos vales. Por isso as montanhas do Nilguiri, cercadas por fileira de rochas que sobressaem, mantêm durante grande parte do ano os vapores que depois se convertem em névoa.
Por cima da bruma a atmosfera permanece sempre muito pura e transparente; a névoa só se percebe de baixo, não se pode vê-la estando no cume. No entanto os sábios de Madras não têm podido resolver ainda o problema da cor azul muito viva da bruma, e das montanhas (nota de Blavatsky)]
Mister Sullivan em seu espanto só conseguiu comprovar o fenômeno e descrevê-lo como aconteceu, então: “Durante uma hora”, escreve, “sentimo-nos muito tangivelmente submersos numa névoa enorme, mole como a penugem, e nossa roupa ficou molhada por completo. Deixamos de nos ver a uma distância de meio passo; a
névoa efetivamente era muito densa. Em seguida os homens, como as partes do panorama que nos rodeava, começaram a pular em frente de nós, aparecendo e desaparecendo nessa atmosfera azulada, úmida e como que iluminada por fogos de Bengala...”.
Em alguns lugares, devido à subida lenta e difícil “o vapor se põe tão intoleravelmente quente” que alguns europeus “por pouco se afogam”.
Lamentavelmente os físicos e naturalistas da Most Honourable Company que acompanhavam Mister Sullivan se mostraram incapazes de, ou necessitaram de tempo para, aprofundar o fenômeno. Passou um ano e se tornara demasiado tarde para estuda-lo; enquanto a maior parte das penhas que rodeavam então as montanhas desapareciam umas após as outras – fizeram-nas saltar para construir os caminhos do Nilguiri -, o próprio fenômeno cessou de se produzir sem deixar pegada alguma (5).
[(5) Hoje só existe um caminho para cavalgaduras, o Silúrica de Metropolam; os outros são perigosos, e só os cules a pé e seus pequenos pôneis podem seguí-los (nota de Blavatsky).]
O cinturão azul do Nilguiri se desvaneceu. Hoje a névoa é muito estranha; só se forma na época das monções. Em troca as montanhas, de longe, tornaram-se ainda mais azuis, de uma cor safirina mais viva.
Os primeiros informes do assombrado coletor elogiam a riqueza natural e a fecundidade dessa maravilhosa comarca: “Por onde passávamos a terra se mostrava boa; os baddagues nos disseram que dava duas colheitas anuais de cevada, trigo candial, ópio, ervilhas, mostarda, alhos e outras ervas diferentes.
Apesar do frio glacial das noites de janeiro, vimos papoulas em flor.
Manifestamente a glacialidade não tem, nesse clima, ação alguma sobre o desenvolvimento da flora... Encontrávamos água deliciosa em todos os vales e desfiladeiros da montanha. A cada quarto de milha achávamos infalivelmente um manancial de montanha que era preciso atravessar com risco de vida; muitas dessas fontes contém ferro e a temperatura superava em muito a do ar... As galinhas e as aves domésticas que se vêem nos currais dos sedentários baddagues têm tamanho duas vezes superior aos dos animais mais vigorosos da mesma espécie na Inglaterra. E nossos caçadores observaram que a caça nilguiriana – faisões, perdizes e lebres, estas últimas de
cor completamente vermelha – é também muito mais vigorosa que na Europa. Os lobos e chacais encontram-se em grandes manadas. Viam-se também tigres que não conheciam ainda o fuzil do homem, casais de elefantes.
Estes nos olhavam e afastavam-se com indiferença, sem pressa, na completa ignorância do perigo possível... A ladeira meridional das montanhas, a 5000 pés de altura, coberta por bosques tropicais absolutamente virgens, com grande quantidade de elefantes de uma cor particular, quase preta e de maior tamanho que os elefantes de Ceilão. As serpentes são numerosas e muito belas; nas regiões acima de 3000 pés são inofensivas (comprovado agora). Agreguemos um número incalculável de macacos, em todas as elevações. Devo dizer que os ingleses os matam sem piedade alguma (6).
[(6) O chicari indígena, se não é maometano, nunca mata um macaco; este animal é sagrado em toda Índia (nota de Blavatsky)]
Desditosos “primeiros pais do gênero humano”. E os macacos não faltam no Nilguiri; desde os grandes macacos pretos, com capuz de suave pêlo cinza, os
“langures”- Presbytis jabatus – até os “leões-macacos”-Inuus cilenus. Os langures vivem nos cumes das mais elevadas rochas, em profundas fendas, em famílias isoladas como verdadeiros “homens primitivos das cavernas”. A beleza de sua pele é pretexto para o implacável extermínio, pelos europeus, desse animal muito gentil e extraordinariamente inteligente. Os leões-macacos só se encontram na beira dos bosques, na vertente meridional das Montanhas Azuis, de onde saem algumas vezes para esquentar-se ao sol.
Quando divisam o homem os leões-macacos escapam rapidamente nos infranqueáveis bosques malabareses. A cabeça desses símios é por completo leonina, com uma juba branca e amarela e uma mecha de pêlos análoga, na ponta da cauda; daí o nome de leão.
Nessa descrição da flora e fauna das Montanhas Azuis não me sujeito unicamente às observações e informações de Sullivan durante sua primeira ascensão. Naquela época era pouquíssimo o que sabia e só descrevia o que achava no caminho; completo seus escritos graças aos descobrimentos mais recentes.
Os ingleses finalmente voltaram a descobrir as pegadas dos verdadeiros habitantes e donos das montanhas do Nilguiri; os toddes e os kurumbes. Para evitar repetições tenho de dizer o seguinte; como se soube mais tarde os baddagues que viviam com os toddes faz quase 7 anos mostravam-se às vezes nos campos de Kuimbatur, descendo por caminhos
que eram os únicos a conhecer a fim de visitar os outros baddagues, seus parentes. Mas os toddes e os kurumbes continuavam sendo completamente desconhecidos para os indígenas; hoje, quando comunicações regulares e quotidianas se estabeleceram entre Uttakamand e Madras, nunca abandonam seus cumes. Por muito tempo não se pode explicar o silêncio natural dos baddagues sobre a existência das duas raças que viviam juntas. Ao que parece hoje se resolveu com bastante exatidão o problema; esse segredo se deve unicamente à superstição, cuja causa e origem escapam ainda ao europeu, mas são compreendidas cabalmente pelos indígenas. Os baddagues não falam dos toddes porque os toddes são para eles criaturas extraterrestres, deuses a quem veneram; pois bem, pronunciar o nome das divindades de famílias que escolheram (7) um dia é considerado como a maior injúria a esses deuses, blasfêmia que nenhum aborígine comete, mesmo ameaçado de morte. No que diz respeito aos Kurumbes os baddagues os aborrecem, tanto quanto adoram os toddes. A simples palavra “kurumbe” falada em voz baixa, segundo eles, traz azar à pessoa que a pronuncia.
[(7) Cada família hindu, quando pertence a uma mesma seita ou casta de outras, escolhe uma divindade particular chamada de família e que se escolhe entre os 33 milhões de deuses do panteão nacional. Embora essa divindade seja conhecida por todos, os membros da família nunca falam dela, considerando como profanação cada palavra pronunciada sobre esse particular (nota de Blavatsky)]
Tendo chegado aos 7000 pés de altura a uma extensa pradaria de singular forma os membros da expedição encontraram um grupo de edifícios ao pé de uma penha que Kindersley e Whish reconheceram em seguida como as casas dos toddes. Essas moradas de pedra sem portas ou janelas, telhados piramidais, estavam gravadas com demasiada força em suas memórias para permitir-lhes a menor dúvida. Os ingleses olharam a única abertura que nessas casas fazia as vezes de janela e porta e viram que as casas estavam vazias, ainda que evidentemente habitadas. Longe, a duas milhas dessa primeira “aldeia”, divisaram “um quadro digno do pincel de um pintor e frente ao qual nos detivemos tomados de inexplicável estupefação”, relata o coletor. “No entanto os sipaios indígenas que nos acompanhavam manifestaram intenso e supersticioso espanto. Uma cena dos antigos patriarcas se oferecia a nossos olhos. Em diferentes pontos desse extenso vale, rodeado onde quer que se veja por altas rochas, vários rebanhos de gigantescos búfalos
pastavam, com campainhas e sinetes de prata nos chifres... Longe, víamos um grupo de anciões de venerável semblante, com longos cabelos, o rosto enquadrado por longa barba, vestidos com uma branca capa...”.
Eram – mais tarde souberam – os maiores dos toddes, que os esperavam, e os búfalos sagrados do Io Del (recinto do templo) dessa tribo. Ao redor deles, reclinados, andando ou imóveis, viam-se setenta a oitenta homens “em atitudes que nos era impossível imaginar mais pitorescas”. Levavam todos a cabeça descoberta.
No primeiro olhar que lançou sobre “esses Golias gigantescos e belos” o pensamento que surgiu rápido no cérebro do nosso respeitável patriota inglês foi o de constituir um regimento especial desses heróis e depois enviá-los à Londres e oferecê-los como presente ao rei... Logo compreendeu a impossibilidade prática da idéia; mas nesses primeiros dias os toddes os assombraram e fascinaram literalmente por sua extraordinária beleza que nada tinha de hindu. A duzentos passos deles estavam sentadas as mulheres; vestidas como eles, com uma capa branca, levavam os cabelos compridos, bem penteados e jogados sobre as costas. Sullivam contou umas quinze; perto delas meia dúzia de crianças brincava, completamente nuas apesar do frio de janeiro.
Noutra descrição das “Montanhas Azuis” (8) [ (8) As tribos das montanhas do Nilguiri.] um companheiro de Sullivan, o coronel Khennessey, escreve dez páginas sobre as diferenças entre os toddes e os outros hindus, com quem os confundiram por muito tempo, pois seu idioma e costumes eram desconhecidos.
- “O todde diferencia-se exatamente em tudo dos outros indígenas, como o inglês se distingue do chinês”, escreve o coronel. “Agora que os conheço melhor, compreendo por que os baddagues, cujos parentes encontrávamos nas cidades de Maisur antes do descobrimento do Nilguiri consideram esses seres como pertencentes a uma raça superior, quase divina. Os toddes se assemelham verdadeiramente aos deuses assim como os antigos gregos imaginavam. Entre os poucos centenares de ‘fine men’ dessas tribos não tenho visto um só cuja altura seja inferior aos 6 pés ¼. São admiravelmente bem feitos e seus traços lembram a pureza clássica. Agregue a isso os cabelos espessos pretos e lustrosos cortados em arco, curto sobre a fronte e sobrancelhas e caindo atrás das orelhas, nas costas, em pesados cachos anelados e tereis uma imagem de sua beleza. Os bigodes, a barba que nunca é cortada, têm a cor da cabeleira. Os olhos grandes,
castanhos, cinza escuro ou até azuis fitam-nos com expressão profunda, ternos, expressão quase feminina... O sorriso é doce e alegre, jovem na expressão. A boca, até nos anciões mais cansados, conserva os dentes brancos e fortes, às vezes muito belos. A pele é mais clara que a dos canareses do norte. Todos se vestem da mesma maneira. Uma espécie de toga romana branca de tecido cujo extremo passa primeiro embaixo do braço direito, logo é jogado para trás sobre o ombro esquerdo. Na mão um bastão com enfeites fantásticos... Quando me informei de seu destino místico e da fé de quem acredita em seu poder mágico, esse bastãozinho de bambu de dois pés e meio de longitude perturbou-me mais de uma vez... Mas não me atrevo, não tenho direito após ter visto muitas vezes o que vi a negar a verdade de sua crença e a exatidão de suas informações... Ainda que aos olhos do cristão a fé na magia deva sempre considerar-se como pecado, não me sinto com direito a refutar ou ludibriar-me quanto a fatos que sei verdadeiros apesar da repulsa que me inspiram...”
Mas não nos antecipemos. Essas linhas foram escritas há muitos anos.
Sullivam e Khennessey viam então os toddes pela primeira vez e se referiam a eles oficialmente. No entanto, nesse informe do funcionário tudo atraiçoa a perplexidade e revela o assombro, a curiosidade que toda gente sentia a respeito dessa tribo.
- “Quem são?”, raciocina Sullivan nessas páginas. “Viam os homens brancos pela segunda vez, porém sua majestosa calma, seu altivo porte me confundiram; parecia-me tão pouco a tudo o que estamos acostumados a ver nas maneiras servis indígenas da Índia! Ao que parecia os toddes esperavam nossa chegada.
Desprendendo-se do grupo um ancião de elevada estatura veio a nosso encontro, seguido por outros, dos que levavam nas mãos taças de casca de árvore cheias de leite.
Detendo-se a alguns passos de nós falaram-nos numa língua completamente desconhecida. Quando perceberam que não tínhamos compreendido uma só palavra do que diziam escolheram o idioma ialimés, depois o canarês (que usam os baddagues), após o que foi mais fácil entender-nos”.
“Para esses estranhos aborígines éramos homens que pareciam pertencer a outro planeta. ‘Não pertencei a nossas montanhas, nosso sol não é o vosso e nossos búfalos vos são desconhecidos’, me diziam os anciões. – ‘Mandam-vos ao mundo da mesma maneira que os baddagues; nós nascemos de maneira diferente (?)’, observou outro ancião,
cujas palavras me assombraram muito. Tudo quanto diziam os toddes nos permitia compreender que éramos para eles os habitantes de uma terra que tinham ouvido mencionar, mas que nunca haviam visto, como tampouco seus habitantes. E se consideravam pertencentes a uma raça toda especial”.
Quando todos os ingleses haviam sentado sobre a espessa erva, junto aos anciãos
– os demais toddes permaneciam mais longe, atrás -, disseram aos ingleses que os esperavam desde alguns dias. Os baddagues, que até então, eram o único elo que permitia aos toddes comunicar-se com o resto do mundo, ou seja, a Índia, os haviam prevenido; os rajás brancos, instruídos pelos caçadores que os baddagues salvaram dos “lugares habitados pelos búfalos”, se estavam aproximando pelas montanhas. E os toddes declararam também a Mister Sullivan que desde muitas gerações havia uma profecia entre eles; viriam homens de além mar e se instalariam junto a eles, como haviam feito os baddagues; havia que lhes dar parte das terras e “viver com eles como se fossem humanos, em família”. “Tal é a sua vontade, acrescentou um dos anciões, assinalando os búfalos; estes sabem melhor o que é bom ou mau para seus filhos”.
E Mister Sullivan observa: “Não compreendemos essa enigmática frase acerca dos búfalos e só concebemos seu significado mais tarde. O sentido, se bem que singular, não nos é estranho na Índia, onde a vaca é considerada animal sagrado e tabu”.
A respeito das tradições pessoais que conservam obstinadamente os toddes, os etnólogos ingleses gostariam de reconhecer neles “os sobreviventes de uma tribo orgulhosa, cujo nome e outras características permanecem, por outro lado, perfeitamente desconhecidos”. Sobre uma base tão firme, constroem sua hipótese que em suma é a seguinte; essa tribo orgulhosa vivera verossimilmente no passado (Quando? A época segue sendo desconhecida) nos terrenos baixos de Dekkan, perto do rio; e seus rebanhos de búfalos sagrados (que, por outro lado, nunca foram considerados sagrados na Índia) passaram ali muito tempo antes de seus futuros rivais, as vacas, monopolizarem a veneração popular. Também se supõe que essa mesma tribo orgulhosa “rejeitava com crueldade e detinha a ininterrupta descida das populações árias ou dos brâmanes de Max Muller, pelo Oxo, que chegavam das Montanhas do Norte (ou do Himalaia)”.
Esta amável hipótese, verossímil à primeira vista, no entanto desmorona ante o seguinte fato, os toddes, se bem que constituem em verdade uma “tribo orgulhosa”, não
portam arma alguma e tampouco guardam o registro de semelhantes instrumentos de luta. E se não possuem sequer um punhal para se defender dos animais selvagens, nem mesmo um cachorro para vigia noturno, os toddes por certo possuíam para triunfar sobre os adversários meios muito diferentes de tudo quanto recorda a força armada.
Segundo Mister Sullivan os toddes defendem muito legitimamente seus direitos sobre “as Montanhas Azuis” como também sobre sua propriedade secular.
Afirmam – e seus vizinhos seculares confirmam – esse direito de antiguidade; declaram unanimemente que os toddes já eram donos das montanhas quando chegaram os primeiros colonos pertencentes a outras tribos, os mulu-kurumbes.
Logo chegaram os baddagues e finalmente os chottes e os errulares. Essas tribos disseram aos toddes que viveriam só nas alturas e receberam deles a permissão de morar nessas montanhas. Por essa autorização as quatro tribos pagavam aos toddes uma contribuição, não em moeda – pois antes da chegada dos ingleses, o dinheiro era desconhecido nesses cumes – mas em espécie; alguns punhados de grãos que pertenciam aos campos trabalhados pelos baddagues; alguns objetos que os chottes fabricam com ferro, necessários para a construção de casas e a vida doméstica; raízes, bagas, diferentes frutos dos kurumbes e outros itens.
As cinco raças se distinguem de forma cortante umas das outras, como veremos em seguida. Suas línguas, religiões e costumes, como seus tipos, nada têm em comum.
Segundo toda verossimilitude essas tribos representam os últimos sobreviventes das raças pré-históricas aborígines da Índia meridional; mas se se puderam reunir certos conhecimentos no que concerne aos baddagues, os chottes, os kurumbes e os errulares, a história, para os toddes, se apagou como se escrita sobre a areia. Se o julgamos pelos antigos sepulcros de “a Colina”, e por algumas ruínas de templos e pagodes, não só os toddes como também os kurumbes deviam chegar à civilização em épocas pré-históricas; os toddes possuem signos que incontestavelmente se parecem a letras, no gênero das inscrições cuneiformes dos antigos persas.
Mas que importância tem o que foram os toddes no passado distante? Hoje são uma tribo patriarcal, cuja vida se concentra em seus búfalos sagrados. Por isso os numerosos escritores que se referem aos toddes chegaram à conclusão de que adoram os búfalos como se fossem deuses, praticando assim a zoolatria. Não é verdade. Pelo que
sabemos sua religião possui um caráter muito mais elevado que uma simples e tosca adoração aos animais.
O segundo informe e os outros que escreveu Mister Sullivan são ainda mais interessantes. Mas como não cito palavras do respeitável funcionário inglês senão para confirmar minhas próprias observações e estudos não há motivo para voltar a me referir a elas. Só me permito apresentar alguns dados estatísticos complementares formulados por Mister Sullivan e outros funcionários no que concerne às cinco tribos do Nilguiri.
Eis conciso resumo das páginas do coronel Thornton:
1- Os errulares são o povo que se encontra depois da queda d’água, nas vertentes das montanhas. Vivem em covas de terra e se alimentam de raízes. Agora, com a chegada dos ingleses, se tornaram menos selvagens. Vivem em grupos de três ou quatro famílias e seu número é em torno de mil indivíduos.
2- Os kurumbes acima deles. Dividem-se em dois ramos:
a- os kurumbes simples, que moram em choças agrupadas em povoados; b- os mulu-kurumbes, de repugnante aspecto e estatura extraordinariamente reduzida, que vivem em verdadeiros ninhos nas árvores e se assemelham mas a grandes macacos que a criaturas humanas.
NOTA: Se bem que nas outras cidades da Índia há tribos que apresentam os mesmos traços gerais e os mesmos nomes que os errulares e os kurumbes elas se distinguem limpidamente, em tudo, destas duas últimas, sobretudo dos kurumbes, verdadeiros espantalhos e maus gênios que se impõe às demais tribos salvo os toddes, reis e donos da “Montanhas Azuis”.
Como é sabido, Kurumbu é uma palavra tamil que significa “anão”. Mas enquanto os kurumbes dos vales são simplesmente aborígines de porte reduzido, os kurumbes nilguirianos amiúde não superam os três pés de altura. Estas duas tribos não têm qualquer idéia das necessidades mais elementares, mais indispensáveis da vida e não saíram ainda do estado de selvageria mais grosseiro, conservando todos os indícios da mais primitiva raça humana. Falam uma língua que mais se parece ao cantar dos pássaros e aos sons guturais dos símios que à fala humana, ainda que, muitas vezes, se lhes ouve pronunciar palavras que pertencem a muitos dialetos antigos da Índia dravídica. O
número de errulares e de kurumbes não ultrapassa mil indivíduos por tribo.
3- Os Kotchares. Raça ainda mais estranha; não tem idéia alguma sobre a distinção de castas e diferenciam-se tanto das outras tribos das montanhas quanto dos indígenas da Índia. Tão selvagens e primitivos quanto os errulares e kurumbes, vivendo como toupeiras em cavernas construídas de terra e nas árvores; são coisa singular, notáveis artífices para trabalhar o ouro e a prata, ferreiros, oleiros.
Possuem o segredo da preparação do aço e ferro; suas facas, assim como suas outras armas, pela sua maleabilidade e gume, solidez à prova de tudo, superam tudo quanto se fabrica na Ásia e Europa. Os kotchares só utilizam uma arma, comprida como um espeto, muito afiada de ambos os lados. Eles a usam contra o javali, o tigre e o elefante, e sempre triunfam sobre o animal. Os kotchares não revelam seu segredo por dinheiro algum. Nenhuma das tribos que moram nas montanhas domina semelhante ofício. A forma pela qual chegaram a dominá-la continua sendo um dos enigmas que os etnólogos terão de resolver. Sua religião nada tem a ver de comum com as religiões dos outros aborígines. Os kotchares não têm idéia dos deuses dos brâmanes e adoram divindades fantásticas que entre eles não se materializam em forma alguma. O número de kotchares, calculado segundo permitem nossos meios, não supera as 2500 almas.
4- Os baddagues ou “bughers”. A mais numerosa, mais rica e mais civilizada das cinco tribos do Nilguiri. “Bramanistas”, dividem-se em vários clãs. Aproximam-se de 10000
indivíduos e quase todos trabalham na agricultura. Os baddagues adoram, não se sabe por quê, os toddes, e lhes rendem honras divinas. Para os baddagues os toddes são superiores a seu deus Shiva.
5- Os toddes, chamados também todduvares. Dividem-se em duas classes principais. A primeira é a classe dos sacerdotes, conhecida com o nome de teralli; os toddes que formam parte dela se consagram ao serviço dos búfalos, estão condenados a um perpétuo celibato e praticam um culto incompreensível que ocultam cuidadosamente dos europeus e também aos indígenas que não pertencem à sua tribo. A segunda classe é a dos kutti, simples mortais. Pelo que conhecemos, os primeiros constituem a aristocracia da tribo. Nesta tribo pouco numerosa contamos 700 homens e segundo os toddes seu número nunca superou essa cifra.
Com a finalidade de mostrar até que ponto esse tema era interessante agreguemos
aos informes de Mister Sullivan a opinião dos autores do livro que apareceu em 1853, por ordem da East India Company, The States in India, artigo sobre o Nilguiri. Nele se fala também dos toddes;
“Esta reduzida tribo atrai ultimamente a entusiasta e séria atenção não só dos turistas do Nilguiri como também dos etnólogos de Londres. O interesse que despertam os toddes é notável. Têm merecido a extraordinária simpatia (in no ordinary degree) das autoridades de Madras. Descrevem-se esses selvagens como uma raça atlética de gigantes admiravelmente bem feitos, descoberta da forma mais fortuita no interior do Ghat. Seu porte está cheio de graça e dignidade e pode-se caracterizar assim seu aspecto...”.
A isto segue o retrato, que já conhecemos, dos toddes. O capítulo acerca dos toddes conclui com a descrição de um fato que sublinho por sua profunda significação e relação direta com os sucessos dos quais fomos testemunhas – e repetimos – com o sentimento de uma ignorância completa da história e a origem dos toddes. “Os toddes não empregam arma alguma, exceto uma pequena bengala de bambu que nunca abandona sua mão direita. Todos os esforços por penetrar no segredo do seu passado, língua e religião continuam sendo absolutamente vãos; é a mais misteriosa tribo entre todas as povoações nativasda Índia”.
Mister Sullivan não tardou a se ver inteiramente subjugado pelos “Adônis do Nilguiri”, como os chamam os colonos e plantadores mais antigos das “Montanhas Azuis”. Era o primeiro, talvez o único exemplo na Índia inglesa, de um funcionário inglês, de um bara-saab, que fraternizava abertamente, entrava em relações quase íntimas, amistosas, com os aborígines, seus súditos, como o fazia o coletor de Kuimbatur. Como recompensa por ter dado à Company um novo pedaço do território na Índia, deram a Mister Sullivam o cargo de “administrador geral”das “Montanhas Azuis”. E Mister Sullivam viveu trinta anos nessas montanhas: ali morreu.
O que era, então, que o seduzia nesses seres? O que poderia haver em comum entre um europeu civilizado e seres tão primitivos como os toddes? A esta pergunta, como a muitas outras, ninguém respondeu até agora. Não se deve, por acaso, a que o desconhecido, o misterioso, nos atraia como o vazio e provocando a vertigem arrasta-nos até ele como um abismo? Do ponto de vista prático os toddes naturalmente não são mais que selvagens por completo ignorantes de todas as manifestações mais elementares
da civilização. Até se mostram, apesar de sua beleza física, como seres bastante sujos.
Mas não se trata de sua envoltura externa, o problema reside no mundo interior, espiritual desse povo.
Antes de tudo os toddes não conhecem, em absoluto a mentira. Não existe em seu idioma palavra que expresse “a mentira” ou “o falso”. O roubo ou a simples apropriação do que não lhes pertence, também o desconhecem. Basta ler sobre esse particular o que escreve o capitão Garkness, em seu livro: “Uma estranha tribo aborígine” para convencer-nos de que essas qualidades não são o único produto de nossa civilização.
Temos aqui o que diz esse célebre viajante:
“Tendo vivido perto de doze anos em Uttakamand, declaro categoricamente nunca ter achado, nos países civilizados, como entre as raças primitivas, um povo que manifestasse o respeito religioso para o direito meum et tuum (o meu e o teu).
Inculcam esse sentimento nos filhos desde a idade mais tenra. Nós (os ingleses) não achamos um só ladrão no meio deles... Enganar, mentir, parece-lhes absolutamente impossível, não sabem o que é... Como entre os indígenas dos vales da Índia do Sul a mentira, segundo eles, é o pecado mais desprezível, mais imperdoável. A prova tangível desse profundo sentimento inato neles manifesta-se no pico do Doddabet na forma de templo único consagrado à divindade destituída: o verdadeiro. No entanto entre os habitantes dos vales, o símbolo mesmo e o Deus são repetidamente esquecidos; os toddes adoram os dois, sustentando o respeito tanto para a idéia quanto para o símbolo na teoria e na prática, o sentimento do mais sincero, do mais inalterável respeito...”.
Essa pureza moral dos toddes, as estranhas qualidades de sua alma, atraíram para eles não só o Mister Sullivan como também muitos missionários. É mister compreender a significação desses elogios expressados por seres que não têm o costume de louvar de forma desproporcionada os homens em que não produzem impressão alguma (10).
[(10) Até esse dia, seja em 1882, apesar de todos os esforços das missões, nenhum todde se converteu ao credo cristão (nota de Blavatsky).]
É por certo a chegada dos missionários e em geral dos ingleses, a partir do primeiro até o último dia, produzia impressão nos toddes como se esses selvagens fossem simples estátuas de pedra... Conhecemos missionários e até um bispo que não temeram apresentar a moralidade dos toddes como exemplo a seu grupo “de gente bem nascida”,
publicamente, nas igrejas, no domingo.
Mas os toddes possuem outra coisa ainda muito sedutora, senão para o povo em geral e os estatísticos em particular ao menos para aqueles que se dedicaram inteiramente ao estudo dos lados mais abstratos da natureza humana: é o mistério que os seres sentem ao estar em contato com os toddes e a força psíquica de que falei anteriormente. Fica ainda muito por falar acerca desses dois aspectos profundos de sua alma...
O coletor passou dez dias nas montanhas, regressou a seu amigo, o protetor e o defensor dos toddes e durante trinta anos não deixou de ampará-los, protegendo aqueles seres e seus interesses contra a cobiça e as iníquas usurpações da East India Company.
Nunca se referia a eles senão chamando-os “os donos legítimos do solo” (the legal lords of the soil) e obrigou os “respeitáveis pais” a tomar em conta os toddes. Durante muitos anos a Company pagou aos toddes um arrendamento pelos bosques e planícies que estes lhe cederam.
Enquanto Mister Sullivan viveu não permitiu a pessoa alguma ofender os toddes ou apoderar-se das terras que os toddes haviam assinalado previamente aos ingleses como destinadas a pastagens sagradas, o que estava especificado nos contratos.
O efeito produzido em Madras pelo informe de Mister Sullivan foi enorme. Todos aqueles que se queixavam do clima, que sofriam do fígado, de febre e das outras doenças que os trópicos proporcionavam aos europeus com tanta prodigalidade e que gozavam de suficiente fortuna para a viagem precipitavam-se para Kuimbatur. Antigamente um povoado sem importância, em alguns anos chegou a ser cidade do distrito. Em pouco tempo estabeleceram comunicações regulares entre Metropolan, ao pé do Nilguiri e Uttakamand (11), pequena cidade fundada em 1822 a 7500 pés de altura.
[(11) Chama-se simplesmente “Utti”. Empregamos assim mesmo esse nome para nos referirmos a essa cidade (nota de Blavatsky).]
Toda a burocracia de Madras não tardou em transladar-se para lá entre os meses de março e novembro. Uma vila após outra, uma casa após outra brotaram nas vertentes floridas das montanhas como cogumelos após uma chuva primaveril. Após a morte de Mister Sullivan os plantadores se apoderaram de quase todas as terras situadas entre Kotchobiri e Utti; aproveitando o fato de que “os donos da montanha” tinham ficado com os cumes mais altos do Nilguiri para as pastagens dos búfalos “sagrados”, os
ingleses se apoderaram de nove-décimas partes das “Montanhas Azuis”. Os missionários não deixaram de aproveitar a ocasião, zombaram dos indígenas e de suas crenças nos deuses e gênios da montanha; seus esforços foram inúteis. Os baddagues conservaram sua fé nos toddes apesar destes se contentarem com os cumes sem as penhas, que compartilhavam agora com os langures. Os “pais” da Company e depois os burocratas governamentais, continuando ainda a considerar os toddes, no papel, como os
“proprietários legais do solo” , comportaram-se, como sempre ocorre, como “senhores barões”.
No momento ninguém prestava atenção aos kurumbes. Desde a chegada dos ingleses, os kurumbes, ao que parece, tinham sumido sob a terra como se realmente fossem o que aparentavam ser: gnomos de aspecto repugnante. Ninguém ouviu falar deles, ninguém os viu nos primeiros anos. Mais tarde mostraram-se pouco a pouco, estabelecendo-se à margem dos pântanos e junto aos úmidos penhascos. Contudo não tardaram em assinalar sua presença... Como? Veremos nos capítulos seguintes.
Ocupemo-nos antes de tudo dos toddes e baddagues.
Quando a nova ordem das coisas, reconhecida, se organizou e as buscas deram início ao estabelecimento de estatísticas relacionadas às tribos descobertas, nossos respeitáveis etnólogos enfrentaram dificuldades que encontraram quando quiseram resolver o problema da origem dos toddes: após vinte anos de esforços tiveram de confessar que era tão impossível conhecer a verdade acerca deles como aparentá-los com qualquer das tribos da Índia. “É mais fácil chegar ao pólo norte que penetrar na alma de um todde”, escreve o missionário Metz. O coronel Khennessey acrescenta: “A única indicação que pudemos obter após tantos anos é a seguinte: os toddes afirmam que vivem nessas montanhas desde o dia no qual ‘o rei do Oriente’ (?) as outorgou; nunca as abandonaram, nem uma só vez desceram dos cumes.
Mas qual a época histórica em que viveu esse rei desconhecido do oriente?
Respondem-nos que os toddes moram nas ‘Montanhas Azuis’ desde cento e oitenta e sete gerações. Se contarmos três gerações por século (embora notemos como é longa a vida dos toddes), dando fé a suas afirmações. Parecem ter-se estabelecido nessas montanhas há uns 7000 anos. Insistem sobre o feito de que seus ancestrais abordaram a Ilha Lanka (nenhum erro nesse nome, assim como nos outros), vindos do leste, ‘dos
horizontes do Sol levante’. Seus antecessores seriam os antepassados do rei Ravon, monarca-demônio místico, vencido pelo ainda mais lendário Rama. Será coisa de umas vinte e cinco gerações, ou seja, mil anos, que é preciso agregar à primeira cifra, o que constitui uma árvore genealógica cujas raízes se afundam em um passado de 8000 anos (12). Só nos resta aceitar essa lenda ou confessar francamente que não há dado algum permitindo esclarecer seu misterioso passado...”
[(12) Para o nome de Lanka, o monarca vencido por Rama, e a cifra dos milênios, ver La mission des Juifs, de Saint-Yves d’Alveydre (nota do tradutor do texto francês).]
Finalmente; quem são esses seres?
Evidentemente o problema é difícil e sua solução não se adiantou um só passo desde 1822. Todos os esforços dos filólogos, etnólogos, antropólogos e todos os demais
“logos” que em várias épocas chegaram de Londres e Paris não foram coroados por qualquer êxito. Muito pelo contrário: quanto mais se esforçam os sábios por penetrar no mistério dos toddes menos as informações encontradas correspondem a dados científicos que atendam o problema. Todas as indicações podem resumir-se em uma só; os toddes não pertencem à humanidade comum.
Semelhante dado não podia inserir-se, é claro, na “história dos povos da Índia”.
Frente à insuficiência de informações mais corretas os senhores sábios se consolaram inventando algumas hipóteses das quais expomos aqui as mais interessantes: O primeiro teórico é o naturalista Léchenault de la Tour, botânico do rei da França. Esse respeitável sábio em suas cartas (13) reconheceu, não se sabe porquê, nos toddes, cruzados meio bretões, meio normandos que um naufrágio lançou na costa de Malabar. Haviam achado já cruzados no Cáucaso, por que não se poderia tê-los nas montanhas malabaresas? Esta hipótese não tardou a agradar os sábios.
[(13) Uma parte das cartas aparecidas desde 17 de junho de 1820 até 15 de dezembro de 1821 no Diário de Madras (nota de Blavatsky)]
Lamentavelmente um fato aniquilou logo essa poética suposição: nem o idioma nem o pensamento dos toddes possui as seguintes palavras: Deus, cruz, prece, religião, pecado. Os toddes ignoram qualquer expressão que lembre simplesmente o monoteísmo, o deísmo e é vão falar de cristianismo. Também não se pode considerar os toddes como pagãos, pois não adoram algo ou alguém exceto seus próprios búfalos; insisto na palavra
próprios, pois não honram em absoluto os búfalos alheios, das demais tribos. O leite, algumas bagas e outros frutos dos seus bosques são seu único alimento. Mas nunca tocam o leite, o queijo e a manteiga dos outros búfalos que não sejam suas criadeiras sagradas. Os toddes nunca comem carne; não semeiam nem colhem, nunca, pois consideram tarefa inferior todo trabalho que não seja o ordenhar os búfalos e cuidar dos rebanhos.
Essa existência mostra suficientemente que há poucas coisas em comum entre os cruzados da Idade Média e os toddes. Além disso, é preciso lembrar que nunca utilizam armas e não derramam sangue, experimentando para com isso uma espécie de espanto sagrado. Todos os montanheses do Cáucaso, ao nordeste de Tiflis, têm conservado muitas armas e instrumentos da Idade Média; seus costumes levam à reprodução das crenças cristãs (14). Os toddes não possuem qualquer faca, moderna ou medieval. A teoria de Léchenault de la Tour é completamente inverossímil...
[(14) Esses montanheses revelam sua origem alemã pela maneira de comer as salsichas e esquentarem a cerveja. A milícia que armam para a guerra leva cotas de malhas e elmo de viseira. Levam uma cruz no ombro direito (nota de Blavatsky).]
Logo apareceu a teoria celto-cita, conhecida há muito tempo, esmagada, mas sempre querida pelos sábios e que em casos semelhantes mais de uma vez os tirou de apertos. Quando um todde morre reduzem-no a cinzas com seu búfalo favorito, realizando ritos por demais estranhos; quando o defunto era “sacerdote” sacrificam-se de sete a dezessete desses animais.
Mas os búfalos não são cavalos, e o tipo dos toddes é bem europeu, lembrando muito os nativos do sul da Itália ou da França, fisionomia muito diferente daquelas dos citas, pelo que sabemos.
Léchenault de la Tour lutou muito tempo por suas idéias, mas quando zombaram delas, abandonou sua teoria. A hipótese dos citas segue sendo considerada seriamente apesar de todas as inverossimilitudes.
Depois apareceu em cena a teoria eternamente rejeitada e que incessantemente ressuscita, das dez “tribos perdidas de Israel”. O missionário alemão Metz com ajuda de alguns de seus colegas britânicos dotados como ele de fogosa imaginação entregaram-se com entusiasmo a afundar essa teoria. Mas para refutar todas as suas fantasiosas
afirmações basta repetir que os toddes nunca adoraram algum deus e ainda menos o deus de Israel.
O desditoso alemão, cheio de santa piedade, viveu com os toddes e intentou compreendê-los durante trinta e três anos. Levava a vida cotidiana deles, seguia-os de um lugar a outro (15); só se lavava uma vez por ano, alimentava-se só de laticínios.
Finalmente engordou e chegou a ser hidrópico. Metz se ateve aos toddes com toda a força de sua alma honrada e amante; ainda quando não pode converter à religião cristã todde algum, jactou-se de ter aprendido seu idioma e de ter falado de Cristo a três gerações de toddes. No entanto quando outros europeus quiseram confirmar as opiniões do alemão, deram-se conta que todas as suas alegações eram falsas.
[(15) Realmente os toddes não são uma tribo nômade, e possuem casas, mudam de local de residência com a finalidade de encontrar melhores pastos para seus búfalos (nota de Blavatsky).]
Primeiramente souberam que Metz não conhecia uma só palavra do idioma.
Os toddes lhe haviam ensinado o dialeto canarês que utilizavam em seus tratos com os baddagues e as mulheres de sua tribo. Metz não compreendia coisa alguma da língua secreta falada pelos anciãos quando celebram o conselho ou quando se entregam a suas desconhecidas cerimônias religiosas no tiriri, morada santa e severamente custodiada, algumas vezes subterrânea, situada atrás do estábulo dos búfalos; templo consagrado a um culto que ninguém conhece, salvo os toddes. Até as próprias mulheres dos toddes ignoram essa língua sagrada. Talvez a as proibissem de fala-la? No que concerne à iluminação cristã dos toddes o desditoso Metz, transportado a Utti doente e quase moribundo confessou muito francamente que nos trinta e três anos de vida em comum não conseguiu batizar um só todde, homem ou criança. Porém esperava “ter semeado o germe de uma futura educação”.
No entanto ali também o esperavam decepções. Padres jesuítas chegaram ao Nilguiri, provenientes da costa ocidental de Malabar; esforçaram-se também em reconhecer nos toddes uma colônia de antigos sírios convertidos ao cristianismo ou de maniqueus (16).
[(16) Os padres jesuítas desejaram provar, um dia, que os toddes, como os antigos maniqueus, adoram “a luz” do sol, a lua e até a chama de uma simples lâmpada. Essa
adoração por certo não vai em descrédito do maniqueísmo. Por outra parte os jesuítas mentiram quando o afirmaram. Os toddes divertiram-se muito com essa idéia, quando a fizemos conhecer a eles, a Sr. Morgam e eu. Ao contrário, mostram profunda aversão pela luz da lua (nota de Blavatsky).]
Realizaram extensas investigações. Empregando sua costumeira habilidade e astúcia os jesuítas conseguiram relacionar-se com os toddes. Não se insinuaram em sua confiança, mas se fizeram amigos desses selvagens comumente silenciosos e conseguiram inteirar-se para sua grande alegria, porque aborreciam os protestantes ainda mais que os pagãos – de que Metz poderia ter vivido séculos com eles, na mais estreita amizade, sem lhes produzir a menor impressão.
- “A palavra do homem branco parece-se ao piu-piu damainá (gênero de aves pairadoras) ou à tagarelice dos macacos”, diziam os velhos toddes aos jesuítas que na sua malevolente alegria não aprofundaram essa “cortesia” de dois gumes...” Nós os ouvimos, e nos fizeram rir... Que necessidade temos de seus deuses se temos os nossos grandes búfalos?”. E aduziram que Metz lhes propunha substituir a fé em seus búfalos pela religião daqueles que desejavam suas pastagens e os humilhavam quotidianamente (17).
[(17) Obras e trabalhos dos missionários padres jesuítas nas costas de Malabar (nota de Blavatsky).]
Com despeito pela sorte comum que os toddes tinham reservado aos discípulos de Loyola eles ridicularizaram o honrado alemão, difundindo acerca de sua pessoa anedotas por todo o sul da Índia. Conhecemos e podemos nomear jesuítas que fortalecem, com todas as suas forças os indígenas em sua fé adoradora da potência satânica em vez de permitir sua conversão ao protestantismo.
Esses acontecimentos tiveram lugar há dez anos. Depois os missionários das duas religiões não se ocuparam mais com os toddes. Compreenderam que qualquer esforço para convertê-los ao cristianismo resultaria em pura perda de tempo. E, no entanto apesar da ausência de todo o sentimento religioso nessa tribo os escritores e todos os habitantes de Utti proclamaram unanimemente que não há na Índia povoação tão honrada, moral e caridosa como os toddes. Essa porção de selvagens patriarcas, sem família, sem história, sem a mínima manifestação (pelo menos visível) da fé em princípio sagrado que não seja a sua adoração pelos sujos búfalos, tem conquistado todos os
europeus pela sua ingenuidade verdadeiramente infantil. Contudo os toddes estão muito longe de ser um povo bárbaro, como demonstra sua extraordinária capacidade de falar várias línguas e sua firmeza em não revelar sua própria linguagem secreta.
Sullivan relata nas suas Memórias como conversava com os toddes por longas horas, acrescentando que não fazia outra coisa senão calar-se em profunda estupefação quando os ouvia julgar os ingleses: “Espontânea e muito justamente os toddes compreendiam nosso caráter nacional e com a intuição percebiam nossos defeitos”.
Acabo de fazer conhecer os toddes em suas características gerais; relatei tudo ou quase tudo que deles se sabe na Índia. Agora posso abordar o relato de minhas aventuras pessoais e das observações que realizei no meio dessa tribo, tão pouco conhecida e tão misteriosa.
CAPÍTULO III
ESTABELEÇO RELAÇÕES COM OS TODDES
“A verdade que defendo está impressa em todos os momentos do passado. Para entender a história é necessário estudar os símbolos antigos, os signos sagrados do sacerdócio e a arte de curar nos tempos primitivos, arte hoje esquecida...”
Barão Du Potet
A cena tem lugar em Madras, na primeira metade de julho de 1883. Sopra o vento do ocidente, que começa às sete da manhã, pouco depois de levantar-se o sol e não para até as cinco da tarde. Esse vento sopra assim há seis semanas e não há de desaparecer até finais de agosto. O termômetro Fahrenheit assinala 128o à sombra. Na Rússia não se conhece senão raramente o que é o vento do “oeste” no Sul da Índia. Procurarei descrever esse inimigo implacável do europeu. Todas as portas e janelas que se acham orientadas na direção de onde vem esse ventinho igual, contínuo, suavemente aveludado, estão cobertas por grossos tattis, ou sejam esteiras de kusi, de erva aromática. Todas as fendas estão tapadas por burletes, a menor abertura se acha tapada com algodão, substância que é tida como a melhor proteção contra o vento do Oeste. Mas nada o impede de penetrar por aqui até nos objetos suficientemente impermeáveis à água. Esse vento se infiltra nas paredes e o extraordinário fenômeno que descrevo em seguida é provocado pelo seu sopro igual e tranqüilo: os livros, os jornais, os manuscritos, todos os papéis se agitam como se estivessem vivos. Folha após folha se levanta como ao impulso de uma mão invisível e sob a pressão desse cálido alento. Intoleravelmente ardente cada folha se enrosca sobre si mesma, pouco a pouco, até se tornar um fino rolo, após o que o papel segue estremecendo, acariciado pelos novos zéfiros... O pó, no começo quase imperceptível, depois em capas mais grossas, se deposita sobre os móveis e todos os objetos; impregna-se como tela, não há escova no mundo que o possa remover. E no tangente aos móveis, se não se tira o pó todas as horas, perto da noite a camada de pó tem mais ou menos dois centímetros de espessura.
Não existe mais que um remédio; a panka. Abre-se a boca o mais possível, volta-se a cabeça para o Oriente, permanece-se sentado ou deitado e imóvel, respirando a frescura criada artificialmente pelo balanço de um ventilador gigante que atravessa a habitação. Após o sol ter se posto pode-se respirar um pouco de ar ainda por demais quente.
É por isso que a sociedade européia de Madras segue o governo local e toca para as “Montanhas Azuis” até novembro. Eu havia resolvido partir, mas não em primavera: já estávamos na metade de julho e o vento do Oeste teve tempo para secar-me até a medida dos ossos. Convidaram-me meus bons amigos – a família do general Morgan. A 17 de julho, semimorta de calor, preparei rapidamente as malas e às seis da tarde me encontrava no compartimento de um trem. No dia seguinte, antes do meio-dia estava em Mattapolan, ao pé do Nilguiri.
Encontrei-me com a exploração anglo-hindu que se denomina civilização entre nós e ao mesmo tempo com Mister Sullivan, membro do Conselho e filho do coletor defunto de Kuimbatur. A “exploração” se apresentou sob o aspecto de uma abominável caixa com duas rodas com uma torre de tecido que a cobria; já tinha pago por ela em Madras e por lá a caixa se dissimulava sob o pseudônimo de “cano de molas, fechado e muito confortável”. Embora Mister Sullivan me aparecesse como o gênio guardião dessas montanhas, possuindo certamente enorme influência sobre as alturas que se elevam aos céus diante de nós, era tão impotente como eu contra a exploração dos especuladores britânicos privados ao pé do Nilguiri. Não pude fazer outra coisa senão consolar-me.
Após se dar a conhecer e dizer que regressava às autoridades sob cujo mandato estava –
Sullivan terminava de abandonar sua plantação situada não sei onde – deu-me um exemplo de submissão, ocupando seu lugar sem reclamar e como melhor pode na honrosa caixa de duas rodas. Os grandes da “raça superior”, tão altivos como os brâmanes, diminuem e tremem ante os seres inferiores de seu povo na Índia. Tenho-os observado mais de uma vez. Talvez temam o que possam divulgar e mais ainda sua língua coberta de fel e a todo poderosa calúnia.
O membro do Conselho não se atreve a dizer uma palavra ao empregado sujo,
“agente que transporta os viajantes e bagagens de Madras ao Nilguiri”. Quando este declarou com insolência que chovia nas montanhas e não ia correr o risco de estragar as
cores dos carros fechados porque os viajantes podiam seguir nas carruagens abertas –
nem Mister Sullivan nem os demais ingleses que se dirigiam a Utti fez alguns desses gestos anglo-hindus que reduzem ao pó os indígenas de mais elevado cargo.
Não se podia fazer coisa alguma. Sentada através da caixa de duas rodas frente à qual a tongua russa no caminho de Simla é como um carro real comparado ao furgão onde se trancafiam os cachorros nas ferrovias, começamos a subir a montanha. Dois tristes espectros de cavalos de correio arrastavam a carruagem. Só tínhamos tido tempo de correr meia milha e um dos fantasmas enfureceu ligeiramente sobre as patas traseiras, tombando a carruagem, que me arrastou até cair. Tudo isso aconteceu a doze centímetros de um barranco, felizmente não muito profundo e no qual, ao menos, não rolei... Não tive mais que uma surpresa desagradável e o vestido rasgado.
Um inglês veio com grande amabilidade me socorrer – sua carruagem havia ficado presa na lama vermelha – e deu livre curso à cólera insultando o cocheiro, a quem não pertenciam nem a caixa de duas rodas nem o animal que arrebentara no lugar. O
cocheiro era um indígena, pelo que se tornava inútil conquistá-lo de uma maneira ou de outra. Forçada, tive de aguardar a chegada de outra carruagem e dois cavalos que deviam vir da estação. Não lamentei o tempo perdido, já havia conhecido um membro do Conselho falando sobre a construção de uma exploração e agora iniciei conversa com outro inglês. Aguardei por uma hora o socorro vindo da estação, mas pude saber de muitos detalhes novos acerca do descobrimento do Nilguiri, o pai de Mister Sullivan e os toddes. Depois ia me encontrar muitas vezes em Utti com os dois “dignitários”.
Transcorreu outra hora, caiu forte chuva e minha carruagem não tardou a se converter numa banheira com ducha. Para aumentar as desgraças, à medida que subíamos o frio aumentava. Chegando a Chotaguiri, de onde só distava uma hora de viagem, gelava sob meu manto de pele. Cheguei às “Montanhas Azuis” no momento culminante da estação das chuvas. Uma água espessa, enrijecida pela terra dissolvida, rolava por nós em torrente e o admirável panorama dos dois lados do caminho se cobria com a bruma. No entanto a vista continuava sendo bela, até nessas tristes condições; e o ar frio e úmido era absolutamente delicioso após a atmosfera pesada de Madras. O ar estava impregnado de perfume das violetas e do saudável cheiro dos bosques das coníferas. De quantos mistérios esses bosques que cobrem as vertentes das colinas e
montanhas tinham sido testemunhas nos longos séculos de sua existência? O que não teriam visto os seculares troncos da “Montanhas Azuis”, esse profundo túmulo que velava desde tanto tempo, com cuidado, cenas que lembram as de Macbeth! As lendas hoje não mais estão em moda, chamam-nas de narrações – e é natural. “A lenda é uma flor que se abre só na base da fé”. Bem, a fé desapareceu há muito tempo nos corações do Ocidente civilizado; por isso aquelas flores murcham sob o mortífero alento do materialismo contemporâneo e da incredulidade geral.
Essa rápida transformação do clima, da atmosfera e da natureza toda me pareceu milagrosa. Esqueci o frio, a chuva, a horrível caixa onde estava sentada sobre minhas malas e baús; só tinha pressa por farejar, beber esse ar puro e maravilhoso que não respirava desde muitos anos... Chegamos a Utti às seis da tarde.
Era domingo e nos encontramos com a multidão que regressava à suas casas após o serviço vespertino. A multidão era formada em sua maioria por euro-asiáticos, europeus cujas veias estão impregnadas de sangue “negro”, esses passaportes ambulantes com a filiação particular que levam do nascimento ao túmulo, nas unhas, no perfil, nos cabelos e na cor do rosto. Não conheço no mundo algo mais ridículo que um euro-asiático vestido com uma levita à moda e enfeitado com chapéu redondo sobre a fronte estreita – exceto uma euro-asiática adornada com chapéu de penas, que a faz parecer um cavalo de cerimônias fúnebres, coberto por gualdrapa preta adornada com penas de avestruz. Nenhum inglês é capaz de experimentar e, antes de tudo, de manifestar a respeito dos hindus o desprezo que sente pelos euro-asiáticos. Estes últimos aborrecem o aborígine com um ódio que se mede pela quantidade de sangue indígena assimilado... Os hindus pagam ao euro-asiático com a mesma moeda e muito mais. O
“doce” pagão se converte em tigre cruel ao ouvir a palavra “euro-asiático”.
Não olhava, todavia, os desleixados crioulos enlameados até os joelhos no espesso lodo de Uttakamand, que inundava assim como um pântano de sangue todas as ruas da pequena cidade. Aproximando-se de Utti meu olhar não se detinha nos missionários recém-barbeados que praticavam sob guarda-chuvas abertos ao espaço vazio, agitando com gesto patético o braço livre sob as árvores que choravam chuva. Não, não. Aqueles a quem procurava não estavam ali: os toddes não passeavam pelas ruas e não se acercavam quase nunca da cidade. Minha curiosidade era vã – não demorei a sabê-lo. Só consegui
satisfazê-la alguns dias mais tarde.
À véspera, no trem, morria sufocada graças ao calor intolerável. Agora, desacostumada, tremia de frio sob o cobertor e por toda a noite houve fogo aceso na minha lareira.
Durante três meses, até o final de outubro, trabalhei para conseguir novas informações sobre os toddes e kurumbes, já como nômade a visitar os primeiros e estabeleci conhecimento com quase todos os anciãos dessas duas tribos extraordinárias.
Mistress Morgan e as duas filhas, todas nativas dessas montanhas e falando a língua dos baddagues, assim como o tamil, ajudaram-me muito e se esforçaram por enriquecer a cada dia minha coleção de fatos. Reuni aqui quanto pude aprender pessoalmente com elas, de outros relacionamentos, assim como o que pude aprender dos manuscritos que me confiaram. Entrego esses fatos ao estudo do leitor.
Pode-se afirmar que não existe em qualquer lugar do mundo uma tribo que se pareça aos toddes. O descobrimento das “Montanhas Azuis” foi o mesmo, para Madras, que a América foi um dia para o Velho Mundo. Numerosos livros surgiram nestes últimos cinqüenta anos acerca do Nilguiri e os toddes; não há um só deles que, do começo ao final, deixe de fazer a pergunta; “Quem serão, pois, os toddes?”.
Realmente – de onde vieram? De onde vieram esses gigantes, verdadeiros
“brobdingnags” das terras de Gulliver? De que parte da Humanidade seca, morta desde muito tempo, convertida em pó, esse fruto estranho, desconhecido, caiu nas “Montanhas Azuis”?
Agora que os ingleses vivem junto aos toddes há mais de quarenta anos, tendo aprendido deles tudo quanto se pode saber – ou seja, alguma coisa igual a zero – as autoridades de Madras se acalmaram um pouco e mudaram de tática.
“Nenhum mistério se relaciona aos toddes e por essa razão ninguém pode conhecê-lo”, dizem os funcionários. “Nada existe de enigmático neles... São homens semelhantes aos outros. Até sua influência, incompreensível no primeiro momento, sobre os baddagues e os kurumbes se explica com bastante facilidade; trata-se de supersticioso temor de aborígines ignorantes e de anões feios frente à beleza física, à elevada estatura, frente ao poder moral de outra tribo”. Resumindo: “Os toddes são selvagens, belos, ainda que sujos, irreligiosos e sem passado consciente. Representam simplesmente uma tribo que
esqueceu sua ascendência. Meio animal, como as demais tribos da Índia”.
Contrariamente a eles, todos os funcionários, agricultores, plantadores, toda essa humanidade que se fincou e vive desde muito tempo em Uttakamand, em Kottaguiri e em outras aldeias e povoados, nas encostas do Nilguiri abordam o problema de maneira outra. Os moradores sedentários dos sanatórios (1) que brotaram igual a cogumelos, em trinta anos nas “Montanhas Azuis” - sabem de coisas que não imaginaram nem em sonhos – mas se calam, sabiamente. Quem deseja ser objeto de riso para os outros? Mas há também seres que não temem falar francamente, e com vigor, daquilo que dão por certo.
[(1) Os ingleses chamam assim as vilas nas montanhas da Índia, como Simla, Darjeeling, Misuri, etc, onde enviam soldados e oficiais para o restabelecimento da saúde (nota de Blavatsky).]
Entre estes últimos citarei a família que me convidou e não abandonava Uttakamand fazia quarenta anos. Essa família se compõe do general Rhodes Morgan, sua mulher amável e culta e oito filhos e filhas casados; todos são do mesmo pensar cabal e firme acerca dos toddes e kurumbes, especialmente os últimos.
- Minha mulher e eu envelhecemos nestas montanhas – dizia amiúde o respeitável general inglês. – Nós e nossos filhos falamos a língua dos baddagues e kurumbes e compreendemos o dialeto das tribos locais. Centenas de baddagues e kurumbes trabalham em nossas plantações. Estão acostumados a viver conosco e nos amam, consideram-nos sua família, seus fiéis amigos e protetores. Por isso, se alguém os conhece bem, sua vida doméstica, costumes, ritos e crenças, não pode ser outro senão nós: minha mulher, eu e meu filho mais velho, que está empregado aqui como coletor, sempre lidando com eles.
Assim, fundando-nos em fatos mais de uma vez comprovados nos tribunais declaro com orgulho: os toddes e os kurumbes possuem real e indiscutivelmente certa força, são dotados de certo poder dos quais nossos sábios não têm idéia alguma...
Se fosse homem supersticioso (2) resolveria o problema muito simplesmente.
Diria por exemplo, como dizem nossos missionários: os mulu-kurumbes são uma progênie infernal, eles nascem diretamente do diabo. Quanto aos toddes, embora pagãos servem de contraveneno aos kurumbes e representam o instrumento de Deus para debilitar o poder e resistir aos perigos dos kurumbes.
[(2) O respeitável general é um livre-pensador que aprecia muito o agnosticismo científico da escola de Herbert Spencer e dos filósofos dessa família (nota de Blavatsky).]
Mas como não acredito no diabo, cheguei há muito tempo a outra convicção: não devemos negar ao homem e à natureza as forças que não compreendemos. Se nossa orgulhosa ciência carente de sabedoria se nega a admitir sua realidade tal se deve apenas a não ser capaz de compreendê-la e classificá-la (3).
[(3) Interessa comparar a opinião do cético inglês à do sacerdote Bellustin, que escreveu amiúde nas revistas da capital sobre as superstições populares russas, no que têm a ver com bruxarias e bruxos. Mais adiante o pensamento do general inglês se aproximará ainda mais do sacerdote russo (nota de Blavatsky).]
“Vi demasiados exemplos que demonstram irrefutavelmente a realidade, a presença dessa força desconhecida por nós, para não condenar o ceticismo da ciência a seu respeito” (4).
[(4) É um extrato do original inglês de um “informe do Major General Morgan, dirigido ao comitê organizado pelo Conselho Geral da Sociedade Teosófica para o estudo das religiões, costumes, cultos e superstições das tribos montanhosas dravídicas”. Esse informe, redigido por um dos membros principais do Conselho, presidente da Sociedade Teosófica do Toddebet em Uttakamand, foi lido em palestra pública para 3000 pessoas no dia da assembléia anual, a 27 de dezembro de 1883, em Adyar (Madras). A família do general Morgan é muito conhecida no sul da Índia. Sua mulher e ele têm o apreço da sociedade européia. Revelo aqui seu nome e me sirvo de seu testemunho com seu pleno consentimento. Convido os céticos da Rússia a se dirigirem e obterem mais amplas informações ao próprio general, se desejam conhecer a opinião de um sábio inglês sobre feitiçaria e os encantamentos dos mulu-kurumbes (nota de Blavatsky).]
Tudo quanto meu respeitável amigo e dono de casa viu ou ouviu em meio aos toddes e kurumbes poderia encher volumes inteiros. Relatarei um fato sobre o qual o general, sua mulher e os filhos dão testemunho de autenticidade. Esse relato prova até que ponto essas pessoas cultas acreditam na feitiçaria e na força demoníaca dos mulu-kurumbes.
“Vivendo por muitos anos no Nilguiri”, escreve Mistress Morgan (5) [(5) Mulher do general e filha do governador geral de Travancore, em Trivandrum, onde nasceu
(nota de Blavatsky).] em “A feitiçaria no Nilguiri” (Witchcraft on the Nilguiri), “rodeada por centenas de indígenas que pertenciam a distintas tribos e a quem recrutei para trabalhar em minhas plantações, conhecendo bem seu idioma, tive oportunidade de observar por todos esses anos suas vidas e costumes. Sabia que recorrem muito a demonologia, à feitiçaria, sobretudo os kurumbes. Esta última tribo se divide em três ramos. O primeiro –
kurumbes simples – se compõe de habitantes sedentários dos bosques que muitas vezes se empregam como trabalhadores; o segundo – os teni-kurumbes (da palavra tein, mel) se alimentam de mel e raízes. O terceiro, mulu-kurumbes... Estes últimos se encontram com mais freqüência que os teni-kurumbes nos lugares civilizados das montanhas, quer dizer, nas aldeias européias; são muito numerosos nos bosques da vizinhança de Viniade.
Usam arco e flecha e gostam de caçar o elefante e o tigre. Existe no povo a crença – e os fatos o confirmam muitas vezes – de que os mulu-kurumbes (como os toddes) têm poder sobre os animais selvagens, sobretudo os elefantes e os tigres. Podem até, caso necessário, tomar a forma desses animais. Graças à chamada licantropia os mulu-kurumbes cometem muitos crimes sem que se possa castigá-los; são rancorosos e malvados. Os outros kurumbes sempre se dirigem a eles para pedir socorro... Se um indígena deseja vingar-se de um inimigo, vai à procura de um mulu-kurumbe...
“Recentemente, entre os trabalhadores contratados em uma plantação de Uttakamand, havia um grupo de baddagues, trinta homens jovens e vigorosos que, sem exceção, se haviam criado em nossos domínios onde, antes deles, seus pais e mães tinham servido. Bruscamente, sem causa aparente, seu número diminuiu.
Quase todo o dia notava-se a ausência de um trabalhador após outro. A indagação revelou que o ausente tinha adoecido de súbito; e pouco depois morria”.
“Num dia de mercado, encontrei um monegar (ancião) da aldeia de onde vinham os trabalhadores baddagues. Viu-me e estacou, acercou-se logo, saudando-me com reverência”.
- “Mãe – disse-me – estou muito triste porque me aconteceu uma grande desgraça! - e de repente o monegar prorrompeu em soluços”.
- “O que aconteceu? Fale logo...”.
- “Todos os meus homens morrem, um após outro, e sou incapaz de socorrê-los, impotente para deter o mal... Os kurumbes os estão matando!”
Compreendi e perguntei qual o motivo que levava os kurumbes a cometer esses crimes.
- “Eles sempre querem mais dinheiro... Damos-lhes quase tudo que ganhamos, mas estão descontentes. No inverno passado eu lhes disse que não tínhamos mais dinheiro, que não podíamos dar-lhes mais”.
- “Seja... façam o que quiserem, mas conseguiremos o que queremos!’
Quando eles respondem dessa forma já se sabe antecipadamente o que isto quer dizer. Essas palavras predizem a morte inevitável de algum de nossos companheiros... À
noite, quando todos dormem em volta, de repente acordamos todos e vemos um kurumbe entre nós. Nosso grupo dorme num grande alpendre”.
- “Por que não fecham as portas com ferrolhos?” – propus ao ancião.
- “Fechamos com ferrolhos... Como se o problema fosse esse! Que se feche tudo mas o kurumbe achará a maneira de passar através não importa o que... paredes de pedra não são obstáculos para ele...”
“E seguiu: - ‘Olhamos, depois de acordamos medrosos e ali está ele, no meio de nós... fixa-nos com o olhar, um e depois outro... MADU, KURIRU, DJAGUR (os nomes das últimas três vítimas) e não abre a boca, cala-se, só aponta... depois desvanece subitamente, sem deixar pegada... Após alguns dias aqueles que foram assinalados com o dedo caem doentes, a febre se apodera deles, o ventre incha-se-lhes... e no terceiro, muitas vezes no décimo terceiro dia, morrem. Dessa maneira, nestes últimos meses, de trinta jovens dezoito morreram... Agora somos uns poucos homens!’”
O monegar chorava lágrimas vivas.
- “Por que não dão parte ao governo?” – perguntei-lhe
- “Por acaso os saabs acreditarão em nós? E quem pode apoderar-se de um mulu-kurumbe?”
- “Vá e entregue a esses horríveis anões o que pedem, duzentas rúpias, e que prometam deixar ao menos os outros tranqüilos...”
- “Sim, teremos de fazê-lo” – disse suspirando. E após, saudando, retirou-se.
Esse relato é um dos numerosos que a Sra. Morgan, mulher inteligente e séria, me fez. Mostra que muitos ingleses compartilham a fé dos indígenas “supersticiosos” na força oculta da magia.
-“Vivo no meio dessas tribos há mais de quarenta anos” – dizia-me quase sempre a mulher do general. – “Tenho-os observado muitas vezes e extensamente. Houve tempo em que não acreditava nessa ‘força’, julgando absurdas todas essas coisas. Mas convencida pelos fatos acreditei, como muitos outros”.
- “Certamente deve saber que zombam de sua crença na feitiçaria” – observei-lhe um dia.
- “Eu sei, mas a opinião das massas que julgam superficialmente não pode mudar a minha própria, pois está fundada em fatos”.
- “Mister Betten contou-me ontem à noite no jantar, rindo, que faz dois meses encontrou uns kurumbes... e apesar de suas ameaças ainda está com vida...”
- “O que lhe disse, exatamente?” – perguntou com vivacidade Mistress Morgan, tirando os óculos e deixando de lado seu trabalho.
- Tinha ferido um elefante na caçada, mas o animal desapareceu no mais denso bosque. No entanto, como o elefante era magnífico, Mister Betten não o queria perder.
Tinha consigo oito bengher-baddagues; deu-lhes ordem de segui-lo e encontrar o animal ferido. Mas o elefante os obrigou a se afastarem muito, muitíssimo. Em dado momento, enquanto os baddagues diziam que não iriam mais longe, com temor de encontrarem os kurumbes, acharam por fim o corpo do elefante. Pois bem, ao lado do animal o inglês esbarrou em kurumbes. Estes declararam que o elefante lhes pertencia, que tinham acabado de matá-lo e o provaram mostrando doze flechas afundadas no corpo... Não obstante Betten procurou a ferida feita por sua bala. Pelo que disse, os kurumbes não haviam feito senão acabar com o animal já gravemente atingido... mas os anões insistiram nos seus direitos. Então, e sempre segundo as palavras de Mister Betten e apesar de suas maldições, ele os expulsou e regressou mais tarde, após ter cortado a perna e as presas do elefante. “Continuo forte e cheio de saúde”, declarou rindo. “Não obstante os hindus em meu escritório já me sepultaram depois de saber de meu encontro com os kurumbes...”.
Mistress Morgan ouviu pacientemente meu relato e logo me perguntou:
- “Não lhe disse mais nada?”. “Não”.
O jantar estava chegando ao fim e a conversa se tornava geral.
- Então eu lhe direi o que ele não contou; após falar, chamarei uma testemunha, a
única que sobreviveu com Betten a esse desagradável encontro... Betten lhes disse as palavras que os kurumbes pronunciaram quando quis se apoderar pela primeira vez das presas do animal: “Aquele que tocar em nosso elefante nos verá na hora de sua morte”.
É a forma habitual de ameaça. Se os baddagues de Betten tivessem pertencido a essa região teriam preferido que ele os matasse ali mesmo, em vez de desprezar a ameaça dos kurumbes. Mas ele os tinha trazido de Maisur. Betten feriu o animal, mas é demasiado sensível – ele próprio confessou – para cortá-lo. Não é mais que um caçador pela metade, um cockney de Londres – aduziu Mistress Morgan, com desprezo. – Quem cortou a pata e as presas do animal foram os chicaris de Maisur e depois as levaram dependuradas em varas. Eram oito homens. Deseja saber quantos ainda estão vivos?
A mulher do general bateu palmas – era assim que chamava o criado.
Mandou-o buscar Purma.
Purma era um velho chicari cuja saúde parecia destroçada. A expressão de seus olhinhos pretos e amarelados, como depois de um derrame de bile, passeava temerosa da sua senhora para mim. Certamente não compreendia por que o tinham chamado ao salão dos saabs.
- Diga-me, Purma – começou com firmeza a senhora do general – quantos eram os chicaris que caçaram o elefante, há dois meses, com Betten saab?
- Oito homens, senhora saab. Djotti, uma criança, foi o nono – respondeu o ancião com voz rouca, tossindo.
- Quantos são vocês hoje?
- Fiquei sozinho, senhora saab – disse o velho, suspirando.
- Como? – exclamei com espanto, sem fingimento – Todos os outros, até a criança morreram?
- Murche (estão mortos), todos – gemeu o velho caçador.
- Relata à senhora saab como e por que eles morreram – ordenou a mulher do general.
- Os mulu-kurumbes os mataram; inchou-se-lhes o ventre, um a um, depois outro e todos morreram faz cinco semanas.
- Como conseguiu salvar-se este?
- Eu o mandei em seguida aos toddes para que o curassem – explicou Mistress
Morgan. – Os toddes não receberam os outros... Nunca se encarregaram de sarar quem bebe, mandaram-nos de volta... Por isso meus bons trabalhadores morreram um após outro, até vinte homens – arrematou suspirando. – Assim é... esse velho sarou... Por outro lado, diz que não tocou no elefante... Só levava um fuzil. Betten, como ouvi ele próprio dizer depois, ameaçou os chicari de obrigá-los a passar a noite no bosque, com os kurumbes, se não levassem os despojos do elefante. Espantados, cortaram rapidamente a pata, as presas e os trouxeram... Purma, que tinha vivido longo tempo em casa de meu filho em Maisur, correu a me ver... e o mandei imediatamente à casa dos toddes com seus companheiros. Mas não receberam ninguém, só Purma, que nunca bebe. Os demais ficaram doentes nesse mesmo dia... Andavam entre nós semelhantes a fantasmas verdes, enfraquecidos, com o ventre enorme... Não transcorreu mais de um mês e todos já estavam mortos de febres, segundo o diagnóstico do médico militar.
- Mas a infortunada criança não poderia ser um bêbado! Por que os toddes não a salvaram? – perguntei.
- As crianças de cinco anos já bebem, por aqui – respondeu Mistress Morgan, com expressão de desgosto. – Antes de nossa chegada às montanhas de Nilguiri não se sentia no ar o menor cheiro de bebidas espirituosas. Esse é um benefício que a civilização difundiu nesta região. E agora...
- Agora?
- Hoje a aguardente mata tantos homens quanto os kurumbes. É seu melhor aliado... Se não fosse pelo álcool os kurumbes seriam completamente impotentes por causa da vizinhança dos toddes.
Nossa conversa terminou com essas palavras. A mulher do general ordenou atrelar dois bois a uma grande carruagem e me propôs ir com ela visitar sua aldeia, em busca das ervas. Saímos.
Durante o tempo que durou o trajeto ela me falou dos toddes e kurumbes. Mistress Morgan ama as montanhas e sente orgulho delas. Considera-se filha das montanhas e dos toddes; até os trabalhadores baddagues são para ela parte de sua família. A mulher do general não pode perdoar seu governo por não reconhecer os “sortilégios ocultos” e suas terríveis conseqüências.
- Nosso governo é simplesmente estúpido – dizia Mistress Morgan, agitando-se na
carruagem.– Nega-se a criar uma comissão investigadora, não quer acreditar na realidade que os indígenas de todas as castas reconhecem. No entanto estes recorrem a meios horríveis para cometer crimes impunes e muito mais do que a gente imagina! O terror do ocultismo é tão grande em nosso povo que os homens preferem matar uma dúzia de criaturas inocentes, graças a sortilégios de uma classe muito diferente, contanto que possam curar um doente de quem se suspeita ter sido ferido pelo olho de um kurumbe...
Um dia passeava a cavalo pela região e de súbito o animal se assustou, empinou e dando pulo de lado, completamente inesperado, quase me joga da sela. Olhei para o caminho e vi uma coisa muito estranha. Era uma enorme cesta chata onde tinham colocado a cabeça de um carneiro que fixava os passantes com seu olhar apagado e mortiço; junto da cesta colocaram um côco, dez rúpias de prata, arroz e flores. Essa cesta estava em cima de triângulo composto por três fios muito delgados, amarrados a três postes. Tinham disposto o aparelho de maneira que uma pessoa que avançasse num sentido ou no outro teria inevitavelmente de bater num fio, quebrá-lo e receber uma violenta batida desse sunnium mortífero. Chama-se assim essa classe de sortilégio... É o meio mais comum que os indígenas empregam; recorre-se a essa bruxaria em caso de doenças cuja única finalidade é a morte. Então se prepara o sunnium e aquele que o toca, mesmo um só fio, contrai a doença enquanto o doente se cura. O sunnium com o qual quase esbarrei foi colocado de noite, no caminho do clube, que se percorre quase sempre na escuridão. Meu cavalo salvou-me, mas eu o perdi: morreu dois dias mais tarde. Após esse incidente, como não acreditar no sunnium e em todas as bruxarias?... É o que me irrita – continuou a mulher do general. – Os médicos atribuem a morte provocada por esse sortilégio a certa febre desconhecida.
Surpreendente febre, que sabe escolher suas vítimas com tanta inteligência e sem qualquer erro! Nunca ataca aqueles que nada têm a ver com os kurumbes. É a conseqüência de um encontro desagradável, de uma briga com eles ou de sua raiva contra a vítima. Nunca houve febres no Nilguiri. É o lugar mais saudável do mundo.
Jamais, desde que nasceram, meus filhos estiveram doentes, nem mesmo por uma hora.
Olhe para Edith e Claire. Contemple a força e a pele dessas garotas – acrescentou Mistress Morgan, assinalando as filhas.
Mas não ouviu os elogios que teci às jovens e continuou atacando os médicos...
Bruscamente interrompeu essa invectiva e exclamou:
- Olhe! Tem aqui um dos mais belos murti das aldeias dos toddes. Seu kopitall santo, o mais ancião, vive ali.
Os toddes, como disse, são um povo nômade. Desde Rongasuam ao Taddabet, toda a crista da cadeia de montanhas está cheia de murtis ou povoados; se a um grupo de três ou quatro moradas piramidais se pode chamar um “povoado”. São casas construídas não longe uma da outra e entre elas, distinguindo-se das demais pelo tamanho e construção mais cuidadosa, resplandece um tiriri, “estábulo sagrado dos búfalos”. No tiriri, atrás da primeira “câmara” que serve de abrigo noturno para os búfalos e, sobretudo para as fêmeas, habitação de bom tamanho, se acha sempre uma segunda câmara. Eterna escuridão reina ali; não tem janelas nem portas e sua única entrada é um buraco de um archine (6) quadrado.
[(6) 10 archine = 0,712 m]
Tal câmara deve ser o templo dos toddes, seu sancta sanctorum onde têm lugar cerimônias misteriosas que ninguém conhece. Essa passagem é cavada somente no canto mais sombrio. Nenhuma mulher pode entrar ali, nenhum todde casado; numa palavra, nenhum kut ou pessoa que pertença à classe leiga. Unicamente os terallis, os “sacerdotes oficiantes”, desfrutam de livre acesso ao tiriri interior.
A mesma construção está sempre rodeada por muro de pedras bastante alto, e o pátio tu-el encerrado por esse muro é considerado igualmente sagrado. As casas construídas em volta do tiriri lembram de longe, por sua forma, as tendas dos kirghizes porém são construídas com pedras e cobertas com um cimento muito sólido, têm um comprimento de 12 a 15 pés, largura de 8 a 10 pés e sua altura do chão à porta do telhado piramidal não supera 10 pés.
Os toddes não vivem em sua casa durante o dia; só passam ali a noite. Sem dar atenção ao tempo, arrostando as mais violentas rajadas das monções, as mais torrenciais chuvas, pode-se ver grupos deles sentados no chão ou andando em pares. Após o pôr do sol desaparecem atrás das minúsculas fendas de suas pirâmides em miniatura. Uma elevada silhueta se desvanece após a entrada na casa; logo os toddes fecham a abertura por dentro graças a uma pequena porta, muito grossa, de madeira. E até o dia seguinte não saem mais. Após o pôr do sol ninguém os pode ver ou obrigá-los a sair de sua morada.
Os toddes se dividem em sete clãs ou tribos. Cada clã se compõe de cem homens e vinte e quatro mulheres. De acordo com o que os toddes dizem esse número não muda, nem pode variar; permanece eternamente igual desde sua chegada às montanhas.
Efetivamente as estatísticas o demonstram para este último século. Os ingleses explicam pela poliandria o estranho fato dessa constância na cifra dos nascimentos e mortes que encerram os toddes nesse número secular de setecentos homens; os toddes só têm uma mulher para todos os irmãos de uma família, ainda se estes forem doze homens.
A notável escassez de crianças do sexo feminino nos nascimentos anuais se atribui antes de tudo à matança dos recém-nascidos, bastante difundida na Índia. Mas nunca se pode demonstrar esse fato. Apesar de todas as recompensas oferecidas por ingleses no caso de qualquer denúncia, pois estes, não se sabe por qual motivo, ardiam de desejo de surpreender os toddes em flagrante delito, foi impossível comprovar o menor caso de assassinato de crianças. Os toddes só sorriem com desprezo frente a essas suspeitas.
- Por que matar as ‘mãezinhas’? Dizem eles. “Se não tivéssemos necessidade delas, não existiriam. Conhecemos o número de homens e o número de mães que necessitamos, não teremos mais”.
Esse estranho argumento induziu o geógrafo e estatístico Thorn a escrever um tanto enfadado, em seu livro acerca do Nilguiri: “São uns selvagens, uns idiotas...
Zombam de nós...” No entanto os homens que os conhecem desde muito tempo pensam que os toddes falam gravemente e acreditam em suas afirmações.
Vão mais longe e formulam francamente a opinião de que os toddes, como muitas outras tribos que vivem no seio da natureza, descobriram um número maior de mistérios naturais, por isso conhecem fisiologia prática mais que nossos médicos mais sábios. Os amigos dos toddes estão absolutamente convencidos de que reconhecendo a inutilidade de recorrer ao infanticídio, já que sabem aumentar ou diminuir à vontade o número de
“mães”, os toddes falam a verdade ainda que seu modus operandi nesse escuro problema fisiológico seja para todos um impenetrável segredo.
As palavras “mulher”, “filha” e “virgem” não existem na língua dos toddes. O
conceito do sexo feminino está neles indissoluvelmente ligado ao da maternidade. Por isso não conhecem qualquer termo especial para denominar nosso sexo, seja qual for o idioma no qual se expressam. Quando se referem a uma anciã ou menininha, os toddes
sempre dizem “mãe”, empregando, se a precisão for necessária, os adjetivos “velha”,
“jovem” e “pequena”.
- Nossos búfalos – declaram amiúde – fixaram de uma vez por todas nosso número; o das mães também deles depende.
Os toddes nunca ficam por muito tempo num murti e passam de um a outro na medida em que desaparece a forragem para os búfalos. Graças ao terreno e à feracidade da flora nas montanhas a forragem não tem igual no resto da Índia. Talvez a isto se deva que os búfalos dos toddes superem, pelo tamanho e força, todos os animais de sua espécie, não só nesse país como no mundo inteiro. Mas ali também se manifesta um mistério impenetrável: os baddagues e os plantadores possuem também búfalos que se alimentam do mesmo pasto. Por que, então, seus animais são menores e mais fracos que o gado dos “rebanhos sagrados” dos toddes? O tamanho gigantesco dos búfalos santos induz a acreditar que representam as últimas supervivências dos animais antediluvianos.
Os animais dos plantadores nunca poderão igualar pelo vigor os dos toddes e estes se negam categoricamente a emprestar seus búfalos para cruzamento de raças.
Cada clã dos toddes – há sete – se divide em algumas famílias: cada família, segundo o número de seus membros, possui uma, duas ou três casas no murti – e estão situadas em várias pastagens. Assim cada família tem uma moradia sempre pronta seja qual for a pastagem a que chega e vários povoados que lhe pertencem, a ela sozinha; com o inevitável tiriri, templo-estábulo para os búfalos. Antes da chegada dos ingleses, antes que se disseminassem assim como uma vegetação parasita pelas ladeiras do Nilguiri os toddes que se transladam de um murti para outro deixavam vago o tiriri assim como as outras construções. Mas observando a curiosidade e a indiscrição dos recém-chegados que desde os primeiros dias de sua “violenta invasão” se esforçavam por penetrar em seus edifícios sagrados – os toddes se fizeram mais prudentes. Desconfiam, tendo perdido a antiga confiança, e deixam no tiriri um teralli (7) sacerdote conhecido hoje com o nome de pollola (8) com seus ajudantes e dois búfalos fêmeas.
[(7) Asceta celibatário ermitão (nota de Blavatsky).]
[(8) Pollola, guardião e Kaillol, sub guardião (nota de Blavatsky).]
“Temos vivido pacificamente nestas montanhas por cento e noventa e sete gerações”, dizem os toddes, queixando-se às autoridades, “e nem um só, salvo nosso
teralli, jamais se atreveu a atravessar o umbral três vezes sagrado do tiriri. Os búfalos bramam de raiva... que se proíba aos irmãos brancos aproximar-se do tu-el (barreira santa); senão acontecerá uma desgraça terrível...”.
E as autoridades sabiamente proibiram aos habitantes dos vales, sobretudo aos ingleses e missionários curiosos e insolentes a entrada ao tu-el e até aproximar-se dele.
Mas os ingleses não ficaram tranqüilos até dois de seus compatriotas serem mortos em diferentes épocas: os búfalos os levantaram com enormes e pontiagudos chifres e os amassaram com pesadas patas. O próprio tigre que despreza o búfalo dos toddes não se atreve a medir forças com ele. Por isso ninguém conseguiu descobrir o mistério que se oculta no quarto situado atrás do estábulo dos búfalos. Até o missionário Metz, que viveu trinta anos com os toddes, não conseguiu solucionar esse enigma. A descrição e as afirmações proporcionadas a esse respeito pelo major Frazer (9)[(9) The toddas, what is know of them.] e outros etnólogos e escritores só se fundamentam na ficção.
O major “tinha penetrado no quarto atrás do estábulo dos búfalos e só achou nesse templo que interessava a todo mundo uma câmara vazia e suja”. É verdade que os toddes acabavam de alugar sua aldeia às autoridades e tinham, transportado seus penates a outras pastagens, muito mais extensas. Tudo que as casas e os templos continham havia sido carregado; os próprios edifícios deviam ser destruídos.
Os toddes não se ocupam da criação de gado, carecem de vacas, ovelhas, cavalos, cabras, aves de criação. Só possuem seus búfalos. Não gostam das galinhas, pois “os galos perturbam à noite e acordariam com seus berros os cansados búfalos”, explicou-me um ancião. Já disse que os toddes não tinham cachorros. No entanto, entre os baddagues se encontra esse animal; o cachorro efetivamente é muito útil e mesmo necessário nas cavernas dos bosques. Assim como faziam antes da chegada dos ingleses, os toddes não se entregam a qualquer trabalho: não semeiam nem colhem. No entanto, não lhes falta coisa alguma, embora não mostrem qualquer preocupação pelos assuntos monetários nem entendam patavina dessas questões materiais, com exceção de uns poucos anciãos. Suas mulheres enfeitam com bordados muito belos a orla de seus lençóis brancos, seu único cobertor, mas os homens desprezam abertamente todo o trabalho manual e físico. Todo o seu amor, todas as suas meditações, todos os seus sentimentos piedosos se concentram em seus magníficos búfalos. As mulheres dos toddes
não se podem aproximar desses animais; os homens são os únicos que se ocupam de ordenhar esses animais sagrados.
Alguns dias após minha chegada, acompanhada apenas por mulheres e crianças, fui visitar um murti a umas cinco milhas da cidade. Algumas famílias toddes viviam então nessa aldeia, com um ancião teralli e uma turma de “sacerdotes”, como nos informaram.
Eu já havia tido oportunidade de conhecer alguns toddes, mas não tinha visto suas mulheres nem presenciado a “cerimônia” de entrada dos búfalos no estábulo; tinham-me falado muito dela e desejava extraordinariamente presenciá-la.
Já eram mais ou menos cinco da tarde e o sol se acercava do horizonte quando nos detivemos no limite do bosque; após descer da carruagem atravessamos, andando, uma extensa clareira. Os toddes estavam ocupados com os búfalos e não se aperceberam nem sequer quando estávamos perto. Mas os búfalos começaram a bramar; um dos animais, o “chefe”, sem dúvida, com sininhos de prata nos enormes e enrolados chifres, separou-se do grupo e veio à margem do caminho. Voltou para nós a alta cabeça, fitou-nos com seu ardente olhar e lançou bramido que parecia dizer “quem são vocês?”.
Tinham-me dito que os búfalos eram preguiçosos e estúpidos e seus olhos nada expressavam. Compartilhava essa opinião antes de conhecer os búfalos dos toddes, sobretudo aquele que acabava de falar-nos, ao que parecia, em sua linguagem animal.
Seus olhos brilhavam como ardentes carvões, e em seu olhar oblíquo e inquieto li um verdadeiro sentimento assombrado e desconfiado.
- Não se aproxime dele – gritaram meus colegas. – É o chefe e o animal mais sagrado do rebanho, muito perigoso...
No entanto não pensava aproximar-me e até retrocedi muito mais rapidamente do que me havia adiantado, quando um adolescente de elevada estatura e belo como um Hermes entre os bois de Júpiter, de um só pulo se colocou entre nós e o búfalo.
Cruzando os braços e inclinando-se ante a cabeça “santa” do animal, se pôs a sussurrar na orelha do búfalo palavras que ninguém conseguiu compreender. Teve lugar então um fenômeno tão estranho que se de fato não fosse confirmado pelos outros eu teria acreditado ser uma alucinação devida às histórias e casos que me haviam narrado até esse dia a respeito dos animais sagrados.
O búfalo, apenas pronunciadas as primeiras palavras pelo jovem teralli, virou a
cabeça para ele como se o ouvisse verdadeiramente e o compreendesse. Depois olhou para nós, como a nos examinar mais atentamente e mexeu a cabeça, lançando breves mugidos entrecortados, quase inteligentes; parecia responder às respeitosas observações do teralli. Finalmente o búfalo nos lançou um último olhar, indiferente desta vez, deu as costas ao caminho e se dirigiu lentamente ao seu rebanho... Esta cena me pareceu tão cômica e lembrou-me tanto a conversação popular do mujik russo com o urso acorrentado “Mikhatto Ivanitch” que faltou pouco para cair em gargalhadas. Mas quando vi os rostos graves e algo intimidados de meus colegas, contive-me, com pesar.
- Você já viu que falei a verdade – disse-me uma voz baixa na orelha, meio triunfante, meio temerosa, uma jovem de mais ou menos quinze anos. – Os búfalos e os terallis se compreendem, falam entre si, como homens...
Para minha grande surpresa a mãe não contradisse a filha e não fez qualquer observação. Um pouco confusa, também ela respondeu ao meu olhar estupefato, interrogante: “Os toddes são acima de tudo uma tribo estranha... Nascem e vivem no meio dos búfalos. Eles os adestram durante anos e é de acreditar, com efeito, que falam com eles”.
As mulheres dos toddes reconheceram em nosso grupo a Mistress T... e sua família: saíram ao caminho e nos rodearam. Eram cinco; uma levava o filho, completamente nu a despeito do vento frio e chuvoso; outras três, jovens ainda, surpreenderam-me por sua beleza e uma anciã com rosto ainda bonito, mas em compensação verdadeiramente suja.
Foi esta que se acercou de mim e perguntou quem era eu, em canarês, suponho. Não compreendi a pergunta e uma das jovens respondeu por mim. Quando traduziram a pergunta, esta me pareceu muito original embora não correspondendo totalmente à verdade.
Fui apresentada como uma “mãe” de país estrangeiro e filha que amava os búfalos. Assim se expressou a tradutora. Essa declaração devia evidentemente acalmar e alegrar a velha tão suja; com efeito, sem essa recomendação, como soube depois, não me permitiriam assistir às cerimônias da tarde com os búfalos. A velha partiu logo, correndo, e teve que avisar a outro teralli, o mais antigo; este, rodeado por um grupo de jovens sacerdotes, estava um pouco mais longe em atitude pitoresca, acotovelado sobre o magnífico lombo preto do búfalo “chefe” a quem já conhecíamos. Veio em seguida ter
conosco e começou a falar com Mistress S... que falava sua língua tão bem quanto um nativo.
Que ancião belo e imponente! E para meu pesar comparava esse asceta da montanha a outros anacoretas hindus e muçulmanos. Assim como estes últimos parecem debilitados, um tanto semelhantes a múmias, assim admirávamos o teralli todde pela saúde, o vigor do corpo poderoso, alto e forte como um carvalho secular. Sua barba mostrava fios de prata e os cabelos caiam em espessos cachos sobre as costas, começavam a criar fios brancos. Reto como uma flecha acercava-se sem pressa de nosso grupo e parecia-me ver avançando a imagem vivente de Belisário saindo de seu quadro. À vista desse ancião altivo e belo e a quem rodeavam seis poderosos e magníficos Kapillois... um sentimento de ardente curiosidade despertou em mim e tive o desejo de conhecer tudo quanto era possível acerca dessa tribo e sobretudo seus mistérios. Nesse momento, porém, meu desejo era vão, impossível de satisfazer... Não falava sequer o idioma dos toddes, assemelhando-me nisso a muitos de meus amigos europeus. Devia aguardar com paciência e sem murmurar, observar e ter em consideração tudo quanto me era permitido ver.
Essa tarde assisti apenas à curiosa cerimônia repetida diariamente entre os toddes.
O sol tinha desaparecido quase por completo atrás da copa das árvores quando os toddes se prepararam para a entrada do gado sagrado.
Espalhados pelo campo, uns cem búfalos pastavam tranqüilamente ao redor de seu búfalo chefe; este jamais abandona sua observação, em meio do rebanho.
Cada animal leva chocalhos fixados aos chifres; mas enquanto os de todos os outros eram de cobre, o búfalo chefe se distinguia pela prata pura de seus sininhos e o ouro das argolas.
O cerimonial começou assim: separaram os bezerros das mães e os fecharam no estábulo especialmente preparado junto ao tu-el, até a manhã. Em seguida abriram-se as amplas portas de uma parede muito baixa, tão baixa que desde o caminho vimos tudo que sucedia no tu-el. Acompanhados pelo som dos sininhos e chocalhos os búfalos entraram no estábulo um após o outro e se puseram em fileiras. Eram os machos. As fêmeas esperavam sua vez. Levava-se cada búfalo a uma cisterna ou mais simplesmente a um tanque; ali o lavavam, enxaguavam com erva seca; depois bebia, até saciar a sede, e
logo o fechavam no tiriri.
Qual é o interesse dessa cerimônia? Enquanto os búfalos se acercavam das portas os “leigos” dos dois sexos (oitenta homens e umas duas dúzias de mulheres de diferentes idades) aguardavam em duas fileiras, aos dois lados da porta, os homens à direita e as
“mães” à esquerda. Todos saúdam cada búfalo quando este passa. Além disso cada fêmea todde “leiga” faz gestos incompreensíveis que testemunham seu profundo respeito.
A mesma cerimônia se repete para os búfalos fêmeas. Além daquilo cada fêmea deve ser cumprimentada, inclinando-se até o chão e deve-se lhe oferecer um molho de ervas.
Ditosa a “mãe” cuja oferenda foi aceita pela fêmea “chefe”. Tal fato é considerado um presságio feliz.
Após ter cuidado e fechado todos os búfalos os homens ordenham os búfalos fêmeas; estas não permitem que mulher se acerque delas.
Esta última cerimônia sagrada dura duas horas: os vasos feitos com cortiça de árvore são levados a sete vezes ao redor da fêmea que se acabou de ordenhar e depois depositados na “leiteria”, casa especial que se mantém muito limpa. Só os “iniciados”
ordenham os animais, isto é, os kapillois, sob a vigilância do Teralli chefe ou primeiro sacerdote.
Quando se concluiu a ordenha de todo o leite as portas do tu-el se fecham e os iniciados entram no estábulo dos bois. Então segundo as afirmações dos baddagues, o quarto ao lado do estábulo se ilumina com muitas lamparinas, até a manhã. Essa câmara é a morada dos iniciados. Ninguém sabe o que se realiza nesse santuário sagrado, até o dia, e não há esperança de algum dia sabê-lo.
Os toddes menosprezam o dinheiro; é absolutamente impossível comprar-lhes qualquer coisa porque de nada necessitam e contemplam com perfeita indiferença tudo quanto não lhes pertence, o “não meu”. Como disseram o capitão Garkness e outras pessoas que viveram durante muito tempo com os toddes, testemunhas de todos seus atos cotidianos, eles são pessoas desinteressadas (10) na plena acepção do termo.
[(10) Blavatsky usa uma palavra russa; Bezserenrennik, que significa; Bez, sem, Serebro, dinheiro, e que quer dizer isso mesmo; desinteressado.]
CAPÍTULO IV
Obrigada neste relato a me apoiar no testemunho de Mistress Morgan e sua família em tudo que concerne aos poderes excepcionais dos toddes e kurumbes, sinto que aos olhos da incrédula multidão esse recurso é frágil. Talvez nos digam: “Teosofistas, espiritistas, psíquicos, sois todos semelhantes, acreditais em fatos que a ciência não admite e até rejeita conscientemente com desprezo... Vossos fenômenos são só alucinações que experimentais, vós todos, e que nenhum ser razoável pode levar a sério”.
Estamos prontos, desde muito, a sofrer todas essas objeções. Posto que o mundo da ciência e depois as multidões desejosas de seguir o rastro que deixa, têm negado com desenvoltura o valor do trabalho de alguns grandes sábios, por certo não pretendemos convencer o público. Quando os testemunhos dos professores Hare, Wallis, Crookes e outras muitas estrelas da ciência foram negados, e sabemos como essas mesmas multidões, que à véspera pronunciavam com paixão servil os nomes de seus poderosos inventores, os articulam hoje com um sorriso de desdenhosa piedade, como se falassem de homens que tivessem perdido subitamente a razão, nosso juízo pode se considerar perdido.
Quem é o homem muito interessado pelos problemas psicológicos do dia que não lembra os conscienciosos estudos, longos e aprofundados, do químico Crookes? Ele comprovou com irrefutáveis experiências realizadas com aparelhos científicos que se produziam muitas vezes fenômenos absolutamente inexplicáveis diante de dois seres chamados médiuns. E demonstrou por isso mesmo a existência de forças e faculdades ainda não estudadas no homem e com as quais ninguém tinha sonhado na Royal Society.
Para recompensá-lo por esse descobrimento que comoveu então a Europa e América, crédulas e principalmente incrédulas, essa Royal Society – assim como a Universidade francesa no caso de Charcot – esteve prestes a expulsar do seu seio o honrado Mister Crookes (1), cega e surda a tudo quanto é psíquico e espiritual. A descoberta do radiômetro não ajudou a convencer os céticos nem a da “matéria radiante” o conseguiu.
[(1) O fato de Crookes pertencer à Sociedade Teosófica fere ainda mais sua reputação.
Apesar de a Royal Society, seus membros começaram um após o outro a seguir o exemplo do grande químico e a aderir aos grupos psíquicos ou teosóficos. Lord Carnavon,
Balkaren, os professores Wallis, Sidjoulk, Benet, Oliver Rodge, Balfour Stuart e outros são todos psíquicos e/ou “teosofistas”, muitas vezes uma e outra coisa. Se a Royal Society da Inglaterra continua expulsando seus membros ao mesmo ritmo, muito cedo só ficará por membro o porteiro (nota de Blavatsky).]
Rogamos ao leitor lembrar que este relato não tem como alvo propaganda do espiritismo. Contentamo-nos em proclamar os fatos; não temos a intenção de abrir os olhos à massa mostrando-lhe a realidade de fenômenos anormais, estranhos, ainda inexplicados, mas de nenhuma maneira sobrenaturais. Os teosofistas acreditam na verdade do fato mediúnico – a experiência verídica e não o engano que infelizmente tem lugar em 70 por cento dos casos; mas repudiam a teoria dos “espíritos”. Eu, que escrevo estas linhas, não acredito na materialização das almas dos mortos e não admito as explicações espíritas e menos ainda sua filosofia.
Todos os fenômenos acerca dos quais se falou neste último quarto de século são tão verdadeiros e irrefutáveis como pode ser a existência dos médiuns, mas os ditos fenômenos possuem tanto do que se pode chamar espiritualidade como os honrados marceneiros e ferreiros, considerados no sul da França e Alemanha apóstolos dos mistérios das aldeias e escolhidos pelos representantes da igreja, só pelos braços musculosos e corpo robusto.
Essa crença na realidade dos fatos e a desconfiança a respeito de todo o charlatanismo são compartilhadas pela maioria dos homens de quem se diz que são espiritualistas e pelos membros da Sociedade Teosófica; os brâmanes da Índia, por um lado, e por outro algumas centenas de sábios muito competentes para julgar o espiritismo. O químico Crookes pertence a estes últimos, n’em déplaise aux spirites (2), divulgando por meio de todas as suas publicações o falso rumor de que é um espiritista convicto.
[(2) Em francês no texto.]
Os espiritistas estão muito errados. Antes, quando ainda não conhecíamos pessoalmente Mister Crookes, as lendas que corriam acerca de sua pessoa nos desconcertavam. Mas em abril de 1884, em sua casa de Londres, na presença de numerosas testemunhas, Crookes respondeu de forma direta, sem vacilações, que acreditava igualmente nos fenômenos mediúnicos descritos por ele em sua “matéria
radiante”; havia-nos mostrado e explicado a mesma. Mas fazia muito tempo que não dava crédito à intervenção dos espíritos, se bem que antes se inclinara a tal explicação.
- Quem era então Katie King? – perguntamos.
- Não sei. Muito provavelmente o duplo de Miss F. Cook (a médium) –respondeu o sábio e aduziu que esperava seriamente ver a fisiologia e a biologia se convencerem da existência no homem do referido duplo semi-material.
Ainda podemos fazer esta objeção: o fato mesmo de que haja sábios que acreditam no duplo e no espiritismo não demonstra a realidade de tais duplos nem a dos fenômenos mediúnicos.
Esses sábios constituem, além disso, uma minoria, enquanto os que negam os fatos ainda não demonstrados pela ciência contemporânea formam a esmagadora maioria. Não pretendo discutir. Basta-me assinalar que os seres inteligentes só representam no momento um limitado número com porcentagem não de toda a massa humana como das classes cultas. A maioria só possui uma superioridade manifesta sobre a minoria; a da força grosseira, animal. Senta-se sobre a minoria e se esforça por esmagá-la ou apenas afogar sua voz. Tal fato se observa por todos os lados. As massas dos partidários da opinião pública exercem pressão sobre aqueles que preferem a Verdade. A Royal Society da Inglaterra e a Universidade da França perseguem os sábios que se atrevem a atravessar em nome dessa verdade desonrada os limites rigorosamente estabelecidos por eles em redor de seu rigoroso programa materialista. Os espiritistas se esforçam por derrotar e mesmo suprimir os teosofistas... Tudo isso está na ordem das coisas. Temos certeza de que entre eles se encontram muitos homens inteligentes que acreditam na presença pessoal; da alma dos mortos nas sessões espíritas, nos “espíritos” que se revestem de matéria, em suas revelações, na filosofia de Allan Kardec e até na infalibilidade dos médiuns profissionais e públicos. Embora manifestemos respeito pelas crenças individuais, não compartilhamos as convicções dos espiritistas. Permitimo-nos manter nossas convicções pessoais. Só o tempo e o socorro da ciência, quando houver modificado sua tática, demonstrará quem está certo ou não.
Persuadidos definitivamente de que essas influentes instituições, a Royal Society da Inglaterra e as outras academias sábias da Europa nunca acudiram em nossa ajuda (pelo menos, durante nossa vida); convencidos de que a maioria dos homens da ciência
resolveu negar pelos séculos todos os fenômenos psicológicos; sabendo que as massas, por julgarem sempre superficialmente as coisas, qualificam de grosseira superstição tudo quanto não entendem (quando muitos temem compreender); convencidos finalmente de que todos ficaram de acordo para chamar a verdade e fato unicamente aquela conclusão formulada por eles mesmos, sem razões fundamentais, quando quase todas as teorias científicas determinadas pelos homens têm sido em todo tempo abandonadas uma após a outra na certeza de não poder, apesar dos nossos esforços, mudar o espírito de nosso século, resolvemos atuar sós e procurar nós mesmos as explicações necessárias.
Durante dois anos acumulamos todas as informações possíveis e estudamos a
“bruxaria”dos kurumbes e durante outros cinco anos procuramos conhecer as manifestações dessa mesma força nas várias tribos da Índia. O conselho central da Sociedade Teosófica constituiu um comitê e tomamos estritas medidas para evitar possíveis fraudes. Nossos colegas, escolhidos nos meios céticos mais encarniçados, chegaram a essa mesma conclusão: “Tudo quanto se diz a respeito dessas tribos está fundamentado em fatos reais. Excluindo naturalmente os enormes exageros das massas supersticiosas, todos esses fatos foram demonstrados mais de uma vez. Assim como os toddes, os kurumbes, os jammades e outras tribos, em virtude dessas faculdades, têm poder sobre os homens, nós não o conhecemos e não nos incumbe explicá-lo. Só declaramos o que vimos”.
Assim falaram nossos colegas, os hindus educados segundo o ensinamento contemporâneo inglês, quer dizer, materialista, na total acepção do termo, e que não acreditam nem nos deuses pessoais nem nos espíritos dos espíritas.
Enunciamos a mesma conclusão, mas suspeitamos, e essa suspeita equivale a uma certeza, de que tal força dos bruxos nilguirianos é nossa amiga: “a força psíquica” dos doutores Carpentier e Crookes. Realizamos experiências minuciosas, imparciais, sérias, sobre nós mesmos e outras pessoas. E pensamos que frente aos doutores Charcot, Crookes, Tsellner, como frente aos nossos olhos quando se trata dos “feiticeiros”, uma só e mesma força atuava: a diversidade de suas manifestações depende, sobretudo das diferenças dos organismos humanos, do lugar, das condições ambientais nas quais se manifesta essa força, também muito das condições climáticas e finalmente das tendências intelectuais dos seres denominados “médiuns”.
Antes que eu o fizesse, escreveu-se sobre os toddes e kurumbes. No entanto nas descrições dos ingleses é impossível encontrar alguma coisa ou compreender algo, exceto as hipóteses já mencionadas e mais inadmissíveis umas que outras.
No desespero de não poder sair desse labirinto e ver novamente a Luz Celestial, quis questionar pandits indígenas, que têm fama de ser “crônicas e lendas” ambulantes.
Os pandits enviaram-me a um asceta baddague. Esse anacoreta, que nunca se lavava, mostrou-se muito amável e hospitaleiro. Em troca de alguns sacos de arroz relatou a um dos indígenas, membro de nossa Sociedade, lendas de sua raça, durante três dias e três noites, sem interrupção alguma. Inútil dizer que os anglo-hindus nada sabem acerca dos fatos que relatarei em seguida.
A palavra “baddague” é canaresa e significa o mesmo que o “vadugan”, tamil, que significa “setentrional”; todos os baddagues chegaram do norte. Quando, faz 600 anos, chegaram às “Montanhas Azuis”, encontraram ali os toddes e kurumbes.
Os baddagues estão convencidos de que os toddes viviam no Nilguiri desde muitos séculos atrás.
Os anões “kurumbes” declaram por sua vez que seus antepassados se puseram ao serviço de, ou aceitaram ser escravos dos antepassados dos toddes que ainda viviam em Lanka (Ceilão) com a finalidade de terem direito de morar nas sua terras, “com a condição de que seus descendentes permanecessem constantemente sob os olhares dos toddes”.
Em caso contrário, observam os baddagues, “esses demônios não tardariam a não deixar viver a alguém na terra exceto eles mesmos”. Os kurumbes, quando se sentem, tomados de sua diabólica maldade, não contradizem esta declaração dos baddagues; pelo contrário, estão orgulhosos de seu poder. Rangendo os dentes, estão prontos em sua impotente raiva contra os toddes, como escorpiões, a morder-se a si mesmos, a matar-se em seu próprio veneno. O general Morgan, que os viu muito pouco em seus acessos de furor, diz-me que ele, ainda positivista, temia ver-se forçado a acreditar, contra sua vontade, no diabo.
Por outro lado os baddagues afirmam que a coabitação de sua tribo com os toddes é muito antiga.
- Nossos antepassados já estavam a seu serviço sob o rei Rama – afirmam. – Por
isso os servimos também.
- Mas os toddes não acreditam nos devas de seus pais – contrapus um dia a um baddague.
- Não; os toddes acreditam em sua existência – responderam-me – Porém não lhes fazem louvor porque eles mesmos são devas.
Os baddagues narram que no ano em que o deus Rama marchava sobre Lanka (Ceilão), (3) além do grande exército de macacos, muito povos da Índia central e meridional desejaram obter o louvor de se converter nos aliados do grande “avatar”.
Entre estes estavam os canareses, antepassados dos baddagues, de quem estes se dizem descendentes. Realmente os baddagues dividem sua tribo em dezoito castas, entre as quais se encontram brâmanes de elevado nascimento, assim como os “vodei”, ramo da família que reina hoje em Maisur. Os ingleses puderam se convencer da justiça dessas reivindicações. Nas crônicas antigas da casa de Maisur a documentação que até hoje conservavam demonstra: primeiro, que os vodei formam com os baddagues uma só e mesma tribo, nativos todos de Karmalik; segundo, que os aborígines desse país tomaram parte na grande guerra santa do rei Aude Rama contra os rakchas, demônios gigantes da ilha de Lanka (Ceilão).
[(3) Lembro que, para todos os detalhes sobre Rama, Lanka etc, detalhes que permitem compreender certas páginas deste livro, remeto o leitor a La Mission dês Juifs, de Saint-Yves d’Alveydre (nota do tradutor do texto francês).]
E são esses enormes brâmanes, orgulhosos de sua origem antiga e nobre, quem mantém nos baddagues esse sentimento de veneração, não respeito a eles – como fazem os demais brâmanes no resto da Índia – mas com respeito aos toddes, que rejeitam seus deuses. Buscar a verdadeira causa desse excepcional respeito é muito difícil e o mistério continua excitando a curiosidade dos ingleses. Mostra-se quase impossível resolver esse problema quando as leis dos brâmanes são conhecidas. Com efeito, essa orgulhosa casta, que não aceita trabalhar para os britânicos por qualquer soma em dinheiro; esses brâmanes que se negam a levar um embrulho de uma casa para outra, tendo essa tarefa como uma humilhação pessoal, são precisamente, entre os baddagues, os partidários mais zelosos dos Toddes. Não só trabalham para os toddes sem qualquer retribuição como não se detêm frente ao mais aviltante trabalho que, segundo eles próprios, devem executar
porque os toddes o desejam, ou mais exatamente porque o ordenam os senhores por eles livremente escolhidos. Os brâmanes estão prontos a servir os toddes como pedreiros, serventes, marceneiros, até como párias. Mesmo quando esses altivos hindus continuam mostrando seu orgulho aos outros povos, inclusive aos ingleses, ainda levando o tríplice cordão santo dos brâmanes, mesmo quando são os únicos que tenham o direito de oficiar nas cerimônias da semeadura e colheita (embora muitas vezes se submetem com espanto aos kurumbes), todos ficam reduzidos com a chegada dos toddes... No entanto também os baddagues brâmanes possuem “essa força” maravilhosa em suas manifestações mágicas.
Assim, todos os anos, nas festas da “última colheita do ano” devem dar provas irrefutáveis de que são os descendentes diretos dos brâmanes iniciados, duas vezes nascidos. Por isso andam lentamente de um a outro lado, descalços e sem sofrer mal algum, acima de carvões acesos ou ferro aquecido ao rubro. Esse ardente sulco se estende por todo o comprimento da fachada do templo, seja de nove a onze metros e os brâmanes se mantêm ali imóveis ou caminham, como se o fizessem sobre uma prancha.
Cada baddague-vodei, pela própria honra de sua casta, deve atravessar todo o sulco ao menos sete vezes... Os ingleses afirmam que os brâmanes conhecem o segredo de um suco vegetal que torna a pele das mãos e dos pés invulnerável ao fogo, basta friccioná-los com o suco. Mas o missionário Metz afirma que isso é apenas taumaturgia.
“A razão que obrigou essa casta altiva dos brâmanes a se humilhar até a adoração de uma tribo inferior pelo seu nível cultural e suas faculdades intelectuais, constitui enigma para mim, enigma indecifrável”, escreve o capitão Gakness (The Hill tribes of Nilguiry). Certo é que os baddagues são tímidos por natureza; além disso, tornaram-se selvagens após séculos passados na solidão das montanhas; no entanto é possível penetrar no mistério, comprovando que são seres supersticiosos, assim como são todos os montanheses da Índia. Mesmo assim essa demonstração do indivíduo é muito estranha para um psicólogo.
É incontestável. No entanto a razão primitiva dessa veneração é ainda mais
“curiosa”, se bem que os ingleses – menos os céticos – não podem conhecê-la.
Primeiramente, os toddes não são inferiores aos baddagues nem pela inteligência nem pelo nascimento; muito pelo contrário, nisto eles são infinitamente superiores. Além
disso, a verdadeira origem da adoração dos toddes pelos baddagues deverá ser procurada não no presente mas numa época antiga muito longínqua, naquela época da história dos brâmanes que não só nossos sábios modernos se negam a estudar seriamente, em que não querem acreditar; se bem que tal obra é difícil, não é impossível. Os fragmentos espalhados das lendas e documentos baddagues, as histórias de seus brâmanes caídos desde a invasão muçulmana mas que possuem fulgores provenientes do conhecimento dos mistérios que seus antepassados gozavam – brâmanes da época dos richis e dos adeptos taumaturgos da “magia branca” – a história que fica nos permite reconstituir uma obra lógica, inteiramente sólida. Só é necessário pôr mãos à obra com método; conquistar a confiança dos baddagues e não ser inglês ou bara saab, a quem eles temem ainda mais que aos kurumbes, pois podem acalmar, graças aos seus dons os mulu-kurumbes, cujos maus encantamentos e o olho deixam de atuar, enquanto que consideram os ingleses seus inimigos mortais.
Assim os baddagues, como os outros brâmanes da Índia, consideram um dever sagrado deixar os ingleses o mais possível na ignorância dos fatos relativos à sua história passada e presente, substituindo a realidade pela ficção.
Unicamente os baddagues nilguirianos conservaram a memória desse passado, débil lembrança, é verdade. Os toddes se calam neste ponto e nunca pronunciaram uma sílaba a respeito. Deve-se isso talvez a que todos ignorem essa “antiguidade”, salvo alguns anciãos “sacerdotes”. Os baddagues afirmam que antes de morrer cada teralli deve transmitir a tradição que conhece a um dos jovens candidatos a seu cargo.
Quanto aos kurumbes, ainda quando lembram o século de sua servidão, ignoram tudo dos toddes. Os errulares e os chottes se assemelham mais a animais que a homens meio selvagens.
Desse fato resulta que os baddagues são os únicos das cinco tribos nilguirianas que lembram seu passado e podem prová-lo. Cabe-nos chegar à conclusão de que o conhecimento que têm do passado dos toddes não se firma na ficção. Todas as suas afirmações correspondem à sua própria história, sua chegada do norte, sua descendência dos colonos canareses que vieram de Karmatic, há mil anos, região hoje conhecida com o nome de Maisur do Sul e que constituiu na mais remota antiguidade histórica uma parte do reino de Konkam, verificou-se que eram todas exatas. Por que não teriam conservado
também migalhas da história do longínquo passado dos toddes?
A origem das estranhas relações entre as três raças tão diferentes continua sendo por completo indeterminável (oficialmente) até este dia. Os ingleses asseguraram que suas relações se estabeleceram após uma prolongada coabitação nas solitárias montanhas, isolados do resto da humanidade os toddes, os baddagues e os kurumbes teriam criado para si mesmos, gradativamente, um universo muito particular feito com idéias supersticiosas. Mas as próprias tribos contam algo muito diferente. E o que relatam acerca de algo que se constitui na mais longínqua antiguidade e sem relação alguma com as lendas e as hagiografias antigas dos hindus continua sendo muito significativo.
As tradições dessas tribos cujos destinos se entrelaçam com o transcorrer das idades são muito mais interessantes quando, ouvindo-os e compreendendo-os, nos parece outro lado de uma página arrancada do poema “mítico” da Índia, o Ramayana.
Quando penso no Ramayana confesso jamais ter compreendido o motivo que levou os historiadores a situar em planos tão diferentes essa obra e os poemas de Homero. Pois segundo meu parecer seu caráter é quase idêntico. Por certo nos dirão que todo sobrenatural é igualmente excluído da Ilíada, da Odisséia e do Ramayana. No entanto por que nossos sábios aceitam quase sem vacilação os personagens históricos de Aquiles, Heitor, Ulisses, Helena e Páris e relegam à categoria de “mitos” vazios as figuras de Rama, Lakchmana, Sita, Ravana, Khanumana e até o rei Aude? Esses seres são simples heróis, ou se têm o dever de lhes devolver a “hierarquia” que lhes pertence?
Schliemann achou na Tróia de provas sensíveis da existência de Tróia e de suas personagens atuantes. A antiga Lanka (Ceilão) e outros lugares mencionados no Ramayana poderiam ser igualmente achados, se se empenhassem em procurá-los. E, sobretudo não se rejeitaria com tanto desprezo em seu conjunto os relatos e as lendas dos brâmanes e pandits...
Aquele que lesse uma só vez o Ramayana poderia convencer-se, rejeitando as inevitáveis alegorias e símbolos num poema épico de caráter religioso, de que existe a possibilidade de achar nele um fundo histórico, evidente, irrefutável.
O elemento sobrenatural num relato não exclui a matéria histórica. Assim ocorre no Ramayana. A presença nesse poema de gigantes e demônios, de macacos faladores e animais empenados e de sábio discurso não nos dá o direito de negar a existência, na
mais remota antiguidade, nem de seus mais destacados heróis nem sequer dos
“macacos” do inumerável exército. Como saber com imutável certeza o que os autores do Ramayana tinham precisamente em vista sob as denominações alegóricas de
“macacos” (5) e “gigantes”?
[(5) Em muitas páginas do Puruna os relatos se referem a esses mesmos reis, com os mesmos nomes dos reinos (termos iguais) empregados no Ramayana. Mas nas narrações a palavra “macaco” é substituída pela de homem (nota de Blavatsky).]
O capítulo VI do Livro de Gênesis se refere também aos filhos de Deus, que tendo visto as filhas da Terras e, tendo-as amado, casaram-se com elas. Dessa união nasceu na Terra a raça dos “gigantes”. O orgulho de Nemrod, a torre de Babel e a “mistura das línguas” se identificam com o orgulho e com os atos de Ravana, com a “confusão dos povos” na época das guerras no Mahabharata, com a revolta dos Daaths (gigantes) contra Brahma. Mas o problema principal reside na real existência dos “gigantes”.
Os eventos relatados em alguns versículos do Gênesis, detalhados no Livro de Enoc, se estendem a propósito dos gigantes a todo poema épico do Ramayana. Sob outros nomes e com detalhes aprofundados, achamos nele todos os anjos caídos, nomeados pelas visões de Enoc. Os naghis, as apsaras, os gandarvas e os rakchasis instruem os mortais sobre tudo que os anjos caídos de Enoc ensinam às filhas dos homens. Samiaza, o chefe dos filhos do céu, que chamando seus duzentos guerreiros para prestarem juramento de aliança sobre Ardis (cume da montanha Armon), ensina depois à espécie humana os segredos dos pecados de feitiçaria, tem sua réplica no rei dos naghis ou dos deuses-serpentes. Azaziel, que mostra aos homens a arte de forjar armas, e Amazarakau, curandeiro bruxo, pelas misteriosas forças de diferentes ervas e raízes, atuam como atuaram as apsaras e azuris no rio Richhaba e os gandarvas “Khacha e Khachu” no cume dos Ghandhamadana. Onde estão as tradições de uma raça na qual não voltamos a encontrar os deuses, instrutores dos homens, que lhes concede os frutos do conhecimento do bem e do mal, os demônios, os gigantes?
O dever de todo historiador consciencioso é penetrar até as próprias raízes da narração profundamente filosófica que é o Ramayana de Valmiki. Sem se deter na forma que pode repelir o realismo ocidental, o historiador deve aprofundar, seguir aprofundando...
No Livro de Enoc fala-se de gigantes cuja altura é de 300 côvados: “comeram tudo que é comestível na terra, depois se puseram a comer os próprios homens”. O Ramayana se refere ao “Rakchis”, que são os mesmos gigantes acerca dos quais nos fala a história dos povos gregos e escandinavos e que encontramos novamente nas lendas da América do Norte e do Sul. Os titãs “filhos de Bur” são os gigantes do Popol-Voh (6) de Ixtlixochitlia as raças primitivas da humanidade.
[(6) O livro do Conselho, Bíblia de México, Livro Santo do “quiches”, índios da Guatemala (nota do tradutor do texto francês).]
O problema se firma na solução da seguinte questão: tais gigantes por acaso puderam viver realmente em nossa terra? Pensamos que sim; e nosso parecer é compartilhado por muitos sábios. Os antropólogos não puderam decifrar ainda a primeira letra do alfabeto que dá a chave do mistério da origem do homem na terra.
De um lado achamos enormes esqueletos, gigantescas couraças e cascos que cobriram a cabeça de verdadeiros gigantes. Por outro lado, vemos a espécie humana diminuir a altura e degenerar de época em época.
Os toddes dizem, e geralmente falam pouco e pesarosos, assinalando os Cairns da
“Colina dos Sepulcros”: “Não sabemos o que são esses túmulos; nós os encontramos aqui. Mas cada um deles poderia conter facilmente meia dúzia de seres como nós.
Nossos pais tinham por estatura o dobro da nossa”.
Essas palavras nos fazem pensar que a lenda que nos narram não é uma ficção; os toddes não poderiam tê-la inventado, porque não conhecem nem os brâmanes nem sua religião, e ignoram os vedas e os outros livros sagrados da Índia. E se o calam ante os europeus, referiram-no aos baddagues, absolutamente da mesma forma em que o baddague anacoreta no-la comunicou. Parece ter sido tomada do Ramayana. Além disso, os toddes são os únicos que a guardaram na lembrança. Essa tradição continua sendo a herança comum dos toddes, baddagues e kurumbes.
Para esclarecer o relato dou, com a narração tradicional do “ancião nilguiriano”, um extrato do Ramayana e os verdadeiros nomes que os toddes deformam um pouco, mas continuam sendo reconhecíveis. Transparece claramente uma verdade nessa tradição: trata-se de Ramayana, rei de Lanka, monarca dos rakchis, povo dos heróis atletas, malvados e pecadores; de sua Irmã Ravana Bibchekhan e seus quatro ministros, de quem
o rei fala nestes termos, no Ramayana, ao apresentar-se a Rama “Dasarátide”, filha do rei Anda e avatar do deus Vishnu:
- “Sou o irmão caçula da Ravana de dez cabeças. Fui ofendido por ele porque lhe dei um bom conselho, de devolver Sita, tua mulher de olhos de lótus. Com mais quatro companheiros, homens cuja força não tem igual e que se chamam Anala, Khana, Sampate e Prakchcha, deixei Lanka, meus bens, meus amigos, e vim ter contigo, cuja magnanimidade não rejeita criatura alguma. Desejo não dever senão a ti tudo quanto me acontecer. Ofereço-me como aliado oh, herói de grande sabedoria, e levarei teus valentes exércitos à conquista de Lanka para que pereçam os malvados rakchis...”
Comparemos agora esta citação com o relato tradicional dos toddes:
“Foi na época em que o rei do Oriente, sem homens macacos (indubitavelmente os exércitos de Songriva e Khanumon) aprestava-se para matar Ravana, o demônio poderoso, mas malvado, rei de Lanka. O povo de Ravana formava-se inteiramente de demônios (rakchis), de gigantes e poderosos taumaturgos. Os toddes, então em sua vigésima-terceira geração (7), estavam na Ilha de Lanka. A ilha de Lanka é uma terra circundada de água por todos os lados. O rei Ravana era um coração de kurumbe (quer dizer, um malvado feiticeiro); tinha convertido a maior parte de seus súditos em demônios malvados. Ravana tinha dois irmãos, Kumba, gigante entre os gigantes que após ter dormido durante centenas de anos, foi morto pelo rei de Oriente; e Vibia, de bom coração, amado por todos os rakchis”.
[(7) Ou seja, há “199 ou 200 gerações”, o que representa (ao menos) 7000 anos.
Aristóteles e outros sábios gregos, quando se referem à guerra de Tróia, afirmam que teve lugar 5000 anos antes de seu século. Depois passaram 2000 anos, ou seja, 7000 anos ao todo. A história, naturalmente, rejeita esta cronologia. Mas o que prova esta narração?
A história universal anterior a Cristo por acaso não se baseia só na hipótese e verossimilitude em suposições em axiomas? (nota de Blavatsky).]
Por acaso não é evidente que “Kumba” e “Vibia” da tradição todde não são outros que Kumbhakarma, e Vibkhechana do Ramayana? E Kimbhakarma, maldito por Brahma e que por resultado dessa maldição ficou adormecido até a queda de Lanka, quando Rama lhe deu a morte, após um terrível duelo, com uma flecha mágica de Brahma,
“invencível dardo que atemoriza os deuses” e que o próprio Indra considerava como o
cetro da morte (8).
[(8) A narrativa de luta se encontra na Mission de Juifs.]
Vibia – dizem os toddes – é um bom rakchi que se viu obrigado a condenar Ravana após seu crime contra o Oriente (Rama) (9) cuja mulher raptou. Vibia atravessa o mar com seus quatro fiéis servidores e ajudou Rama a recuperar sua rainha. Essa foi a razão pela qual o rei do Oriente nomeou Vibia rei de Lanka.
[(9) Os brâmanes baddagues o chamam assim. Dizem que o rei do Oriente é Rama (nota de Blavatsky).]
É palavra por palavra a história de Vibchekharma, aliada de Rama, e de seus quatro ministros, os rakchis.
Os toddes revelam o que tais ministros eram: quatro terallis, anacoretas e benfeitores demônios. Não aceitaram lutar contra seus irmãos demônios, por mais cruéis que fossem. Assim, após o final da guerra, em cujo curso não deixaram de rogar aos deuses pela vitória de Vibia, solicitaram que os relevassem de seu cargo. Acompanhados por outros sete anacoretas e cem homens rakchis laicos com suas mulheres e crianças partiram para sempre de Lanka. Querendo recompensá-los o rei do Oriente (Rama) criou, numa terra estéril, as “Montanhas Azuis” e as concedeu aos rakchis e seus descendentes para delas desfrutarem eternamente. Então os sete anacoretas, desejando passar a vida alimentando os todduvares e tornar inofensivos os encantamentos dos demônios ruins, se metamorfosearam em búfalos. Os quatro ministros de Vibia conservaram sua forma de homens e vivem invisíveis para todos, salvo os terallis iniciados nos bosques do Nilguiri e nos santuários secretos do tiriri. Tendo ocupado o Nilguiri os búfalos taumaturgos, os anacoretas demônios e os chefes todduvares leigos elaboraram leis, determinaram o número dos toddes e dos futuros búfalos, sagrados e profanos.
Depois enviaram a Lanka um de seus irmãos com a finalidade de convidar a Nilguiri outros bons demônios, com suas famílias. Achou ele ali o Senhor de todos eles, o rei Vibia, sobre o trono de Ravana, a quem tinha matado.
É essa a lenda dos toddes. Que o “Rei do Oriente” seja Rama, ainda que os toddes não o nomeiem – há certas dúvidas sobre este particular. Rama, como é sabido, possui centenas de nomes. No Ramayana chamou-se indiferentemente “Rei dos quatro mares”,
“Rei do Oriente”, “Rei do Oeste, do Sul e do Norte”, “Filho de Ragon”, ”Dasarátida”,
”Tigre dos Reis”, etc. Para os habitantes de Lanka ou Ceilão é evidentemente “Rei do Norte”. Mas se os toddes, como acreditamos, vieram do oeste, a denominação “Rei do Oriente” ou da Índia, se torna compreensível.
Voltemos à lenda e vejamos o que nos pode dizer sobre os mulu-kurumbes. Qual a relação que tinham os anões bruxos com os toddes, na antiguidade, e que destino os trouxe às “Montanhas Azuis” sob as severas ordens dos toddes, sabemos graças à continuação do relato que se refere ao envio a Lanka do “irmão demônio”.
Quando chegou à sua pátria, invadida, vencida, achou que tudo tinha mudado desde sua partida da ilha com seus outros Irmãos. O novo rei de Lanka, amigo fiel e aliado do rei Rama, “de olhos de lótus”, intentava então destruir na ilha, com todo seus poder, a malvada feitiçaria dos rakchis, substituindo-a pela benfeitora ciência dos magos anacoretas. Mas a dádiva de Bramavidia “só se adquire graças a qualidades pessoais, à pureza dos costumes, ao amor por tudo quanto vive, tanto aos homens como às criaturas mudas e também pelas relações com magos benfeitores invisíveis que, após terem abandonado a terra, moram na comarca embaixo das nuvens, lá onde o sol se deita” (10).
[(10) Os toddes apontam o oeste ao falar da comarca onde vão seus mortos. Metz chama o ocidente “o paraíso fantástico dos toddes”. Certos turistas do Nilguiri concluíram por isso que os toddes, assim como os parsis, adoram o sol (nota de Blavatsky).]
Vibia conseguiu suavizar o coração dos anciãos rakchis e estes se arrependeram.
Mas um novo mal surgiu em Lanka. A maior parte dos guerreiros do exército oriental, os guerreiros macacos, os guerreiros ursos e os guerreiros tigres, em sua alegria por terem conquistado a Rainha dos Mares e vencido seus habitantes demônios, embebedaram-se de tal maneira que não puderam recobrar a lucidez antes de passados muitos anos. Nesse estado escuro, desposaram rakchis, demônios do sexo feminino. Desta mal concordante união nasceram anões; as mais imbecis e mais cruéis criaturas do mundo. Foram os antepassados dos atuais mulu-kurumbes nilguirianos.
Concentraram neles todos os dons do tenebroso conhecimento da feitiçaria que suas mães misturaram com astúcia, crueldade e estupidez de seus pais, os macacos, tigres e ursos. O Rei Vibis resolveu matar todos os anões e já se aprontava para executar sua
intenção quando o taumaturgo principal abandonou por algum tempo sua forma de búfalo e pediu perdão ao rei, prometendo levá-los às “Montanhas Azuis”. Salvou a vida dos anões sob as seguintes condições: os anões e seus descendentes estariam eternamente a serviço dos toddes, reconhecendo-os como amos e chefes, com direito de vida e morte sobre eles.
Assim o taumaturgo liberou Lanka de um terrível mal e acompanhado por uma centena de rakchis pertencentes a uma tribo estrangeira, regressou às “Montanhas Azuis”. Deixando que Vibia destruísse os anões demônios mais cruéis, incorrigíveis, escolheu trezentas criaturas entre os menos maus dessa nova tribo e as trouxe ao Nilguiri. Desde então os kurumbes que escolheram moradia nas selvas mais infranqueáveis das montanhas se multiplicaram, até se converterem na importante tribo, conhecida hoje com o nome de mulu-kurumbes.
Enquanto foram, com os toddes e os búfalos, os únicos habitantes da “Montanhas Azuis”, sua má índole e habilidade inata de feitiçaria não podiam maltratar ninguém, exceto os animais que enfeitiçavam para comê-los depois. Mas os baddagues chegaram há quinze gerações, e se iniciaram as hostilidades com os anões. Os antepassados dos baddagues, quer dizer, os antigos povoados de Malabar e de Karnatik, se puseram também depois da guerra a serviço dos “bons” gigantes de Lanka. Mesmo assim, quando as colônias dos homens do Norte, logo após terem rompido com os brâmanes da Índia, apareceram nas “Montanhas Azuis”, os toddes, como lhes fora ordenado pela honra e pelos búfalos, tomaram os baddagues sob sua proteção; os baddagues foram os serventes dos senhores do Nilguiri, assim como seus antepassados haviam servido os antecessores dos toddes.
É essa a lenda dos aborígines da “Montanhas Azuis”. Juntamo-la por partes, cabe dizer, e com as maiores dificuldades. Quem, entre os leitores do Ramayana, não reconhece, pois, nesta lenda, os eventos relatados em tal poema? Como os baddagues e ainda mais, os toddes, poderiam inventá-la? Seus brâmanes não são mais que sombras dos antigos brâmanes e nada têm em comum com os representantes dessa casta, nos vales.
Não conhecendo o sânscrito, não ouviram o Ramayana e alguns sequer ouviram falar dele. Talvez nos digam que o Mahabharata, como o Ramayana, ainda que com base nas vagas lembranças de sucessos vividos faz muito tempo, possuem um princípio fantástico
que supera em muito o elemento histórico. Por isso é impossível admitir como verossímil qualquer fato narrado em tais epopéias. Aqueles que falam assim são as mesmas pessoas que se atrevem a sustentar que antes de Pannini, o maior gramático do mundo, a Índia não era capaz de conceber a coisa escrita; o mesmo Pannini não sabia escrever e não tinha ouvido falar das escrituras; e o Ramayana, o Bhagavad-Gita foram verossimilmente escritos depois de Cristo!
Chegará o alvorecer do dia quando os ários hindus – esse povo caído politicamente tão baixo, mas ainda muito grande pelo seu passado, notáveis virtudes e a literatura santa dos brâmanes – ocuparão o espaço que merecem na História?
Quando a iniqüidade e a parcialidade que se fundamentam no orgulho da raça deixarão espaço à cabal retidão, para que os orientalistas deixem de apresentar a seus leitores os antepassados dos brâmanes como embusteiros e presunçosos?
Ainda se pode acreditar que essa literatura, única no mundo pela sua grandeza, que abrange todos os conhecimentos e as ciências conhecidas e desconhecidas, desde muito esquecidos (todos aqueles que estudaram imparcialmente sua filosofia o dizem) se baseia apenas na imaginação criativa e nos vazios sonhos metafísicos?
Os orientalistas afirmem o que quiserem. Nós, que temos estudado essa literatura com os brâmanes, não nos detemos na letra morta. Sabemos que o Ramayana não é um conto de fadas, como se acredita na Europa; possui um sentido duplo, religioso e puramente histórico, e só os brâmanes iniciados são capazes de interpretar as complexas alegorias desse poema. Aquele que lê os livros santos do Oriente com a chave de seus símbolos secretos reconhece que:
1- A Cosmogonia de todas as grandes religiões antigas é a mesma. Elas só se distinguem pela forma externa. Todos esses ensinamentos contraditórios, em seu aspecto, procedem da mesma fonte; a Verdade universal, que sempre se manifestou sob o aspecto de uma Revelação a todas as raças primitivas. Depois, no entanto, a humanidade desenvolveria suas faculdades intelectuais em detrimento da capacidade espiritual, os conhecimentos dos primeiros tempos se transformavam e evoluíam nos diferentes sentidos. Todos esses eventos tinham lugar sob a influência de condições climáticas, etnológicas e outras.
Temos aqui uma árvore cujos galhos crescem açoitados por um vento que muda sem parar: tomam as formas mais irregulares, tortas, feias, porém todos pertencem ao mesmo
“talo original”. O mesmo fato se produz nas diversas religiões; todas nasceram do mesmo germe: a “verdade”, porque a verdade é única.
2- A história de todas as religiões que só se fundamentam nos fatos geológicos, antropológicos e etnográficos desses longínquos períodos pré-históricos. São transmitidos também, e bastante fielmente, em sua forma alegórica. Todas as “lendas”
puramente históricas foram vividas como fatos em sua época. Mas revelá-las sem ajuda da chave à qual estou me referindo e que só se pode encontrar no Gupta-Vidia ou
“ciência secreta” dos antigos ários, caldeus e egípcios, é absolutamente impossível.
Apesar dessa dificuldade são muitos os persuadidos de que virá o dia, mais ou menos próximo, quando todos os relatos lendários do Mahabharata chegarão a ser, graças aos progressos da ciência, uma realidade histórica aos olhos de todos os povos. A máscara da alegoria cairá e aparecerão homens viventes, e os eventos do passado explicarão todos os enigmas e resolverão todas as dificuldades da ciência moderna.
Nossos sábios renegam o antigo método de Platão, que vai do geral para o particular; dizem, que é anticientífico, esquecem que é o único método possível na única ciência positiva e infalível, as matemáticas. Pois bem, o método indutivo desses sábios é insuficiente em biologia e psicologia. Esses homens de ciência não prestaram atenção, por certo, em nossas investigações sobre a história dos brâmanes em geral e da etnologia em particular. Muito pior... para eles, “abster-se, na dúvida”, a regra de ouro da sabedoria universal, não foi escrita para eles.
Somente se abstém do conhecimento quem pode contradizer seus preconceitos pessoais. Onde poderão chegar os orientalistas e os sanscritistas enquanto continuarem rejeitando as interpretações dos antigos livros bramânicos, que os próprios brâmanes escreveram? A erros tão manifestos e grosseiros como os de que são culpados os sábios e etnólogos a respeito dos toddes, e isso devido a que os etnógrafos esquecem muito oportunamente que a “história universal” sob a qual se apóiam para estudar essa tribo original e se funda quase por inteiro nas hipóteses não demonstradas, e mais, acha-se escrita apenas pelos mesmos etnógrafos, quer dizer, pelos sábios ocidentais. E ninguém pode ignorar que todos os historiadores e etnólogos, de apenas cinqüenta anos, nada sabiam acerca dos brâmanes e sua imensa literatura. Uma das grandes autoridades européias em matéria histórica nos afirmou recentemente que os fatos, assim como
estavam descritos nos livros dos brâmanes, constituíam só “invenção de um povo supersticioso e grosseiramente ignorante” (História da literatura sânscrita, por Weber).
Os acontecimentos relatados pelos orientalistas quase nunca concordam com os fatos dos brâmanes; “A História universal” não tem lugar algum em toda a “história”.
Oriente e Ocidente devem ceder. E como os sábios pandits não se viram constrangidos, estudando sua própria história com ajuda das lentes de múltiplas cores dos sanscritistas anglo-saxões? Assim, graças aos sábios da Europa, a época que escreveu o Mahabharata levou quase ao século da invasão muçulmana (11), enquanto o Ramayana e o Bhavagad Gita chegam a ser contemporâneos da Lenda Dourada católica!
[(11) No começo do século VIII da era cristã. ]
Que os europeus afirmem o que quiserem! Nossa convicção continua a mesma: de nossas três raças nilguirianas, duas descendem indiscutivelmente das raças primitivas pré-históricas das quais nossa História Universal não ouviu falar sequer em sonhos.
CAPÍTULO V
Na medida em que pudemos conhecê-los, os toddes não têm concepção alguma da divindade e até negam os Devas que os baddagues, seus vizinhos, adoram. Por essa razão nada existe nessa tribo que lembre a religião; e por isso é muito difícil falar de sua religião. O exemplo dos budistas, que também rejeitam a idéia de Deus, não pode se aplicar aos toddes; pois os budistas possuem uma filosofia bastante complexa; no entanto, se os toddes têm uma, ninguém a conhece.
Qual é então a origem de sua elevada concepção da ética, rara e prática, severa e quotidiana das virtudes abstratas, como amor à verdade, ao justo, o respeito ao direito da propriedade e o respeito absoluto à palavra dada? É necessário admitir seriamente a hipótese de um missionário, a de que os toddes representam uma sobrevivência antediluviana da família de Enoc.
Segundo o que conseguimos averiguar, os toddes têm as idéias mais estranhas sobre a vida além da morte.
À seguinte pergunta: “Em que se transforma o todde quando seu corpo se converte em cinzas na fogueira?” Um dos terallis respondeu:
- Seu corpo se converterá em pasto (erva) nas montanhas e alimentará os búfalos.
Mas o amor pelas crianças e os irmãos se transformará em fogo, ascenderá ao sol e ali arderá eternamente como uma chama que dará calor aos búfalos e aos outros toddes.
Convidado a se explicar mais claramente o teralli continuou:
- O fogo do sol – e assinalou o astro – está composto pelos fogos do amor.
- Então só o amor dos toddes arde ali? – observou seu interlocutor.
- Sim – respondeu o teralli. – Só o amor dos toddes... porque cada homem bom, branco e preto, é um todde. Os homens malvados não amam; por isso não podem subir ao sol.
Uma vez por ano, na primavera e durante três dias, os clãs do toddes realizam, um após outro, uma série de peregrinações e sobem ao pico do Toddabet, onde hoje se encontram as ruínas do templo da Verdade. Cumprem nesse santuário certa classe de penitência e confissão mútua. Os toddes celebram conselho e confessam voluntariamente
seus pecados voluntários e involuntários.
Narra-se que durante os primeiros anos da chegada dos ingleses faziam-se ali sacrifícios: por ter fingido a verdade (o termo direto de mentira é desconhecido entre os toddes) quem tinha pecado dava um pequeno búfalo; por ter experimentado o sentimento de raiva contra um irmão, o todde sacrificava um búfalo inteiro, que muitas vezes estava úmido do sangue da mão esquerda do todde arrependido (1).
[(1) O capitão Garkness descreve o fato em seu livro de 1837. Não consegui achar as ruínas desse templo; e Mistress Morgan acredita que o autor confundiu os toddes com os baddagues (nota de Blavatsky).]
Todas essas cerimônias particulares, esses ritos pertencentes a uma filosofia mantida manifestamente secreta, incitam os seres versados na antiga magia caldéia, egípcia e até medieval a pensar que os toddes estão instruídos, senão do sistema inteiro, pelo menos de uma parte das ciências veladas ou ocultismo. Só que a prática desse sistema que se divide desde as mais longínquas épocas em magia branca e negra pode contribuir para prover uma explicação lógica desse sentimento tão meritório de respeito à verdade e da elevada moralidade vividas por uma tribo meio selvagem, primitiva, sem religião e que se parece em nada a qualquer dos povos que vivem na terra. É nossa opinião inquebrantável – os toddes são os discípulos mais inconscientes, talvez, da antiga ciência da Magia Branca enquanto os mulu-kurumbes são os odiosos filhos da Magia Negra ou da Feitiçaria. Como se conseguiu formar esta convicção em nós?
Eis como:
Nada custa invocar o testemunho de seres conhecidos na história e na literatura desde Pitágoras e Platão até Paracelso e Eliphas Levi que, consagrando-se exclusivamente ao estudo dessa antiga ciência, ensinam, que a magia branca ou divina não pode ser acessível àqueles que se entregam ao pecado ou experimentam simplesmente inclinação por ele, seja qual for a forma na qual se manifesta esse pecado.
A retidão, a pureza de costumes, a ausência do egoísmo, o amor ao próximo, tais são as primeiras virtudes necessárias ao mago. Só os homens cuja alma é pura “vêem a Deus”, proclama o axioma dos Rosacruzes. Além do mais a magia nunca foi um fato sobrenatural.
Os toddes dominam inteiramente essa ciência mágica. Levam enfermos aos seus
terallis, - curam-nos.
Amiúde sequer ocultam sua maneira de devolver a saúde. Deitam o doente com as costas voltadas para o sol; permanece assim várias horas, tempo em que o teralli curandeiro realiza passes, desenha figuras incompreensíveis com seu bambu, sobre distintas partes do corpo, sobretudo na parte doente, e sopra em cima. Depois o teralli pega uma xícara de leite, pronuncia palavra conjuratórias; em uma palavra, pratica as mesmas cerimônias que empregam nossos curandeiros e curandeiras. Finalmente sopra sobre o leite, depois o faz beber pelo doente. Não conheço exemplo de um todde que, tendo aceitado tomar conta de alguém, não o haja curado. Mas só aceita poucas vezes.
Nunca se ocupará de um bêbado ou um libertino. “Cuidamos pelo amor que emana do sol”, dizem os toddes, “e o amor não atua sobre um homem ruim”.
Com a finalidade de reconhecer os ruins entre os doentes que lhes trazem, estendem estes últimos frente ao búfalo chefe; se for necessário cuidar do doente o búfalo o examina, fareja, ou o animal se enfurece e levam o enfermo embora...
Só falta dizer isto: os magos, como seus alunos teurgos, proíbem severamente a invocação das almas dos mortos: “Não a turves e não a invoques (a alma), para que ao ir embora não leve algo de terrestre”, diz Psellius em seus oráculos caldeus. Os toddes acreditam em algo que sobrevive ao corpo: com efeito, segundo a confissão dos baddagues, proíbem-lhes ter comércio com os bkhutis (fantasmas) e ordenam evitá-los, assim como os kurumbes, a quem consideram grandes necromânticos.
O professor Molitor assinala justamente (em seu Philosophy History and Traditions) que só “o estudo consciente das tradições de todos os povos e tribos pode permitir à ciência moderna apreciar em seu justo valor as ciências antigas... A magia fazia parte desses acontecimentos e mistérios. O profeta Daniel havia realizado um profundo estudo dessa ciência; foi duplo: a magia divina e a magia malfeitora ou feitiçaria. Graças à primeira o homem se esforça por ficar em contato com o mundo espiritual e invisível; com o estudo da segunda forma de magia intenta adquirir o domínio sobre os seres viventes e os mortos. O adepto de magia branca aspira realizar fatos bons, criadores do bem; o adepto da ciência negra só deseja realizações diabólicas, ações bestiais...”.
Aqui o honorável bispo traça o paralelo entre os toddes e os kurumbes, como os ocultistas de todos os séculos e os médiuns de hoje se convertem em feiticeiros e
necromânticos inconscientes quando não são embusteiros e faladores.
Se para agradar os materialistas rejeitamos a hipótese de magias branca e negra, como explicar essa multidão de manifestações inacessíveis em sua abstração mesmo quando extraordinariamente precisas e irrefutáveis de fato, forjadas no relacionamento cotidiano entre os toddes e os mulu-kurumbes? Assim perguntamos – Por que os toddes saram de dia, à luz do sol e por que os kurumbes realizam seus malefícios só na claridade da lua, à noite? Por que uns devolvem a saúde, por que os outros expandem as doenças e matam? Por que, enfim, os kurumbes temem os toddes? Se encontrar um desses seres, incapazes de maltratar um cachorro que os tivesse mordido (se algum animal pudesse morder um todde), o repugnante anão desfalece, presa de uma antiga doença. Não sou a única que o observou; muitos céticos que não acreditavam na magia branca, como na negra, o têm visto. Grande número de escritores se referiu a esse fato. Está aqui o que disse, referente a esse tema o missionário Metz:
“Certa hostilidade prevalece entre os toddes e os kurumbes, que obriga estes a obedecer, apesar de si mesmos, aos toddes. Ao encontrar-se com, os toddes o anão cai ao chão, tomado por crise que se assemelha à epilepsia. Contorce-se no chão como uma minhoca, treme de espanto e manifesta todos os sintomas de um terror mais moral que físico... Seja o que for o que estava fazendo ao se aproximar o todde, e o kurumbe quase nunca está ocupado em alguma coisa boa, basta, não que o todde o toque, mas simplesmente o assinale com sua vara de bambu para obrigar o mulu-kurumbe (2) a fugir rapidamente. Mas quase sempre tropeça e cai, muitas vezes como se estivesse morto, permanecendo, até o desaparecimento do todde, num estado de transe mortal (dead trance), do qual eu fui mais de uma vez testemunha (Reminiscences of life among toddes)”.
[(2) Os kurumbes se dividem em várias tribos; seu nome é devido a seu tamanho pequeno.
Por essa razão a raça nilguiriana é chamada, para distingui-la dos outros “mulu-kurumbes”, o matagal eriçado de espinhos (da palavra mulu, matagal espinhoso e kurumbe, anões).
Moram geralmente nos mais espessos, mais infranqueáveis bosques, onde crescem os matagais mais espinhosos (nota de Blavatsky).]
Evans, no seu Diário, Um veterinário no Nilguiri, referindo-se ao mesmo tema termina o quadro escrito por Metz e acrescenta: “Recuperado de sua crise o kurumbe começou a se arrastar pelo chão, igual a uma cobra, e a correr arrancava com os dentes
ervas que escolhia. Depois esfregava o rosto na terra, o que pouco contribuía para aumentar seus encantos naturais. A terra, muito rica em ferro e ouro, tira-se com muita dificuldade da pele. Por conseguinte, quando meu novo amigo (o kurumbe que queria roubá-lo) levantou-se e se apresentou a nós, titubeante como um homem bêbado, após o encontro que ninguém desejava, assemelha-se a um clown de circo coberto de manchas e de sanguinolentos arranhões, amarelados e vermelhos...”.
E ainda mais; já temos dito que os toddes nunca levaram armas para se proteger dos animais nem cachorro que pudesse avisá-los da ameaça de qualquer perigo. No entanto, nas lembranças dos mais velhos habitantes de Utti não se encontra algo provando que um todde tivesse sido morto ou ferido por tigre ou elefante. Um pequeno búfalo pertencente aos toddes e que tivesse sido degolado pelos animais selvagens é fato excessivamente estranho e que não tem lugar com os próprios búfalos. Nunca ocorreu que um tigre se tenha apossado de uma criança ou mulher dos toddes. Eu peço ao leitor que medite acerca desse fato; essa intangibilidade protetora tem lugar hoje, em 1883, quando as “Montanhas Azuis” estão cheias de casas habitadas por colonos ingleses, quando não passa semana sem se produzirem casos mortais entre os homens e quando a terceira parte dos rebanhos se acha seguramente condenada a ser arrebatada pelas feras.
Os cules, os pastores, as crianças dos indígenas, seus pais – todos podem, esperar uma morte cruel devida a um sanguinário tigre ou a um elefante selvagem. Só o todde é capaz de passar dias na periferia dos bosques e dormir tranqüilo, indiferente e na segurança de que nada acontecerá. Então, como explicar esse fato conhecido por todos, observado por todos? Pela casualidade – é a explicação que sempre se dá na Europa a inexplicável?
Casualidade muito estranha, no entanto; pois essas coincidências têm lugar há mais de sessenta anos ante os olhos dos ingleses; e, em qualquer caso, custa muito analisá-las e mais ainda demonstrá-las antes da chegada dos ingleses; hoje foram plenamente verificadas. Até os estatísticos juramentados prestaram atenção a esses fatos e os anotaram, se bem que isso acontecesse sem ingenuidade.
- “Os toddes quase (?) não estão expostos aos ataques dos animais selvagens”, vemos nas Notas dos quadros estatísticos para o ano de 1881, “sem dúvida por causa de algum cheiro específico que lhes é particular e que rejeita o animal”. Senhor! Que ingenuidade!...
Essa probabilidade de “um cheiro específico” é digna de imprimir-se em letras de ouro...
É evidente que esta tolice específica se mostra mais agradável aos olhos dos céticos juramentados do que o fato irrefutável que salta aos olhos!
Nessa irrealidade incontestável que o europeu evita como a avestruz, com a cabeça baixa, esperando quando a oculta dessa maneira que os outros não o vejam–
explica todo o enigma da profunda veneração de uma parte, e também do medo que inspiram os toddes a todas as tribos da “Montanhas Azuis”. Os baddagues os adoram, os mulu-kurumbes tremem diante deles. Se frente a um todde que anda serenamente com uma pequena cana inofensiva e inocente na mão – o espanto esmaga o kurumbe – isso se deve ao sentimento de amor e fidelidade que obriga o baddague a se ajoelhar voluntariamente.
O baddague, ao divisar de longe o todde, estende-se no chão, silencioso, aguardando seu cumprimento e bênção. E o baddague fica muito feliz se seu Deva, tocando apenas a cabeça do seu adorador com o pé descalço, desenha no ar um signo compreensível só para ele e logo se afasta lentamente, “o rosto altivo e impassível como se fosse um deus grego”, segundo a expressão do capitão O’ Gredy.
Como consideram os ingleses esse sentimento fanático de veneração dos baddagues para com os toddes e como o explicam?
Natural e simplesmente. Os ingleses rejeitam como fábula imbecil a tradição pela qual esse relacionamento surgiu com os antepassados das duas raças e interpretam os fatos a seu gosto. Assim o coronel Marshal escreveu em seu livro:
- “Esse sentimento parece tanto mais particular quanto, segundo estatísticas, os baddagues desde o começo foram mais numerosos que os toddes. É a relação de dez mil para setecentos. No entanto nada, nem ninguém, fará vacilar o baddague supersticioso em sua convicção de que o todde é uma criatura sobrenatural. Os toddes são gigantes, do ponto de vista físico, e os baddagues não são de elevada estatura, se bem que muito fortes e musculosos. Temos aqui o segredo do sentimento dos baddagues pelos toddes”.
Todo o segredo, certamente não! Por que nem os chottes nem os errulares – duas tribos cujos seres são de pequeno tamanho e débil constituição, comparados aos baddagues – manifestam o mesmo sentimento de veneração e respeito aos toddes, ainda que os respeitem e mantenham relacionamento constante com eles?
Para decifrar o enigma é necessário conhecer a história dos baddagues e acreditar nela, senão ao pé da letra ao menos tendo fé em seus relatos espontâneos. O essencial do problema se radica a nosso ver no fato de que os baddagues foram brâmanes, ainda que degenerados hoje; os chottes e os errulares, no entanto, não são mais que simples párias. E
os baddagues (como os brâmanes na Índia, antes do período muçulmano), estão instruídos sobre muitas coisas que para os outros são letra morta. O que sabem? Direi no capítulo seguinte. No momento falemos um pouco dos baddagues e sua religião. Como todas as demais manifestações do homem nas “Montanhas Azuis” essa religião se distingue pela sua originalidade e caráter muito inesperado.
No cume desnudo do pico Ragasuamisk encontra-se seu único templo, abandonado. A religião dos baddagues se compõe de cerimônias cujo sentido se perdeu há muito tempo. A esse templo, sua Meca, vão duas ou três vezes por ano com a finalidade de ler suas conjurações contra a maior parte dos deuses bramânicos. Segundo o coronel Okhtorby, administrador geral das montanhas, os baddagues constituem uma das raças mais tímidas e supersticiosas da Índia. “Vivem no constante temor dos espíritos ruins, que em sua imaginação rondam sem parar, em volta deles. E o mesmo terror se apodera deles só em pensar nos kurumbes. O pavor que os toddes inspiram nos kurumbes, estes provocam nos baddagues”.
Vejamos o que diz o coronel, em sua sábia obra acerca da superstição dos desditosos baddagues:
“- A doença no homem, a epidemia que afeta aos animais, qualquer desgosto, qualquer infortúnio fortuito em sua família, sobretudo má colheita que os arruína – tudo é atribuído logo pelos baddagues aos encantamentos dos malvados bruxos kurumbes; e se apressam em procurar ajuda na força do bom todde... Essa estúpida superstição está tão profundamente arraigada em todas as tribos do Nilguiri que tivemos que julgar muitas vezes os baddagues por uma matança geral de kurumbes ou por um incêndio de aldeia... E
no entanto os baddagues recorrem freqüentemente à ajuda, à cooperação dos kurumbes, principalmente quando se refere a alguma aquisição ilegal, desonesta. Dirigem-se então através dos anões aos maus espíritos imaginários e submetidos aos kurumbes... (Statistical Records of Nilguiry).
Os ingleses, no entanto nunca viram um todde misturar-se a esses assuntos
“turvos”... Os baddagues odeiam os kurumbes, temem-nos, e apesar disso têm constantes necessidade deles. Nenhuma semeadura, nenhum assunto se conclui sem ajuda do
“feiticeiro negro”. Na primavera, quando semeiam as terras, não se dá começo a trabalho algum antes que o kurumbe abençoe com o sacrifício nos campos de um cabritinho ou um galo (sempre pretos) ou jogue o primeiro punhado de grãos pronunciando conjurações conhecidas. Com a finalidade de lograr uma boa colheita os baddagues se dirigem aos kurumbes pedindo que sejam os primeiros a rastejar e na época da ceifa que sejam os primeiros a ceifar o primeiro monte de espigas ou arrancar o primeiro fruto”.
O autor continua escrevendo para explicar cientificamente essa estranha superstição:
- O kurumbe é de tamanho ridiculamente pequeno. Seu aspecto doentio, cadavérico, com um monte de cabelos hirsutos, amarrados em enorme laço na parte superior da cabeça, sua silhueta que inspira repugnância, explicam plenamente o pavor imbecil que experimenta na frente dele o tímido baddague. Quando o baddague se encontra imprevistamente com um kurumbe em seu caminho, foge como se visse um animal feroz.
E se não conseguiu evitar a tempo o “olhar da cobra” que o feiticeiro lhe dedica o baddague regressa imediatamente para casa, tomado de desespero como uma criatura condenada à morte, abandona-se a seu destino que é, segundo ele, inelutável. Realiza sobre si “todas as cerimônias prescritas pelos Chastramis e que devem preceder a morte; reparte entre os próximos, se possui alguma riqueza, seu dinheiro e seus campos. Depois se deita e aguarda a morte que (fato estranho, quando se medita nele) sobrevém entre o terceiro e o décimo terceiro dia depois do encontro. Assim é a força da imaginação supersticiosa”, explica ingenuamente o autor, “que mata quase inevitavelmente à hora fixa a desditosa e imbecil criatura...”.
Se o poder da imaginação supersticiosa é o único homicida, como explica o respeitável autor o seguinte fato? Ele teve lugar recentemente e todos o lembram nas
“Montanhas Azuis”!
Os bara-saab anglo-hindus não encontram os sujos e selvagens kurumbes nas florestas, seja nove vezes em dez, em suas caçadas. Por isso o segundo encontro de um funcionário inglês com kurumbes ocorreu na floresta e novamente a causa foi um elefante (o leitor lembra o primeiro episódio, com Mr Betten, que Mistress Morgan me relatou).
O herói desse fato foi um homem que ocupava elevada situação oficial. Era conhecido por todos como um dos melhores representantes da sociedade inglesa e sua família ainda não abandonaram Calcutá, assim acredito, onde a jovem viúva mora com o irmão mais velho. A mulher do general Morgan queria muito bem a ela; essa a única motivação por que não posso dar aqui seu nome verdadeiro. Prometi não o nomear ainda, na seguinte narração, embora todos aqueles que estiveram em Madras a reconhecerão facilmente.
Mister K... empreendeu uma caçada com alguns amigos, chicaris e inúmeros criados.
Mataram um elefante e só então Mister K... deu conta de que tinha esquecido de trazer uma faca especial para cortar as presas do animal. Os ingleses resolveram deixar o animal sob a guarda de quatro caçadores baddagues, com a finalidade de protegê-lo das feras, e almoçar numa plantação vizinha.
K... deveria regressar duas horas mais tarde para extrair as presas da caça.
Programação facilmente realizável, pelo menos em aparência. No entanto, quando Mister K... regressou teve que enfrentar obstáculo imprevisto. Uma dezena de kurumbes se sentara sobre o elefante, trabalhando com afinco para cortar-lhe as presas. Sem dedicar a menor atenção às palavras do alto dignitário os kurumbes declararam-lhe friamente que por ter sido morto o elefante em seu território; consideravam que tanto o animal como as presas lhes pertenciam. Efetivamente suas choupanas se levantavam a alguns passos.
O leitor adivinhará a raiva que tal insolência produziu no orgulhoso inglês...
Ordenou-lhes sumir de sua frente e se não o fizessem seus homens os expulsariam a chicotadas. Os kurumbes se puseram a rir e prosseguiram na sua tarefa sem sequer olhar para o Bara-saab.
Mister K... gritou então aos serventes, que expulsaram os kurumbes pela força.
Vinte caçadores armados o seguiam. Mister K... era um homem formoso, de elevada estatura, seus trinta e cinco anos de idade, conhecido pela vigorosa saúde e força, assim como pela irascibilidade. Havia ali uns dez kurumbes, seminus e sem armas. Quatro baddagues que ficaram com o elefante fugiram naturalmente quando os kurumbes lhes ordenaram isso. Três caçadores teriam bastado para caçar os desditosos anões. No entanto os berros de Mister K... não surtiram o menor efeito; ninguém se moveu.
Todos tremiam de medo, pálidos, as cabeças baixas.
Alguns homens, em meio aos quais estavam os baddagues ocultos na mata, saíram correndo e desapareceram na espessura.
Os mulu-kurumbes sentados nos despojos do elefante olhavam com atrevimento o inglês, mostrando os dentes e pareciam provocá-lo.
Mister K... perdeu o domínio de si.
– Covardes! Expulsarão ou não esses bandidos? – uivou.
– Impossível, Saab – declarou um chicari de branca barba – impossível...Para nós é morte certa... Os kurumbes estão em terras deles...
A um pulo Mister K... apeou do cavalo. Então o chefe dos kurumbes, feio como um pecado encarnado, saltou repentinamente sobre a cabeça do elefante e passou a brincar, fazendo caretas, rangendo os dentes como um chacal. Depois meneando a horrível cabeça e ameaçando com os punhos, ergueu-se e abrangendo com o olhar circular todos os presentes, disse:
–Aquele que primeiro tocar nosso elefante, não demorará a se lembrar de nós no dia de sua morte. Não verá a lua nova.
A ameaça era desnecessária. Os servidores do funcionário pareciam ter-se convertido em estátuas de pedra.
Então Mister K... furioso após golpear culpados e inocentes com um enorme chicote, agarrou o chefe dos kurumbes pelos cabelos e o jogou longe. Em seguida, sempre sem deixar de distribuir chicotadas, derrubou e mandou embora os outros kurumbes que pretendiam resistir, aferrados às orelhas e presas do elefante.
Todos os kurumbes se detiveram a dez passos de Mister K... que se dispôs a cortar as presas do elefante abatido. Em todo o transcurso da operação, segundo os servidores, os kurumbes não deixaram de olhar o inglês.
Tendo terminado seu trabalho, Mister K... entregou as presas a seus homens, ordenando-lhes levá-las à sua casa. Já levantava o pé para colocá-lo no estribo quando seu olhar cruzou com o do chefe dos kurumbes, a quem tinha vencido.
–“Os olhos desses canalhas produziram a mesma impressão que o olhar de um terrível sapo... Senti uma espécie de náusea” – relata Mister K... essa mesma noite a seus amigos, que tinham vindo jantar com ele – “E não consegui deter-me” – acrescentou com voz ainda trêmula de repugnância. – “Castiguei-o novamente com meu látego. O
anão deitado imóvel no chão, ali, onde o tinha jogado, levantou-se de um pulo, mas não escapou, para minha surpresa... Retrocedeu simplesmente alguns passos e continuou olhando-me fixamente sem baixar os olhos...”
–“Talvez fosse mais conveniente dominar-se” – alguém disse – “Essas criaturas poucas vezes perdoam”.
Mister K... se pôs a rir...
–“Eles também me disseram. Regressavam como condenados à morte... Eles têm medo do olho!... Povo imbecil e supersticioso! Teriam que lhes abrir muito tempo antes os olhos, a respeito desse olhar! O famoso olho de cobra abriu seu apetite...”
E Mister K... prosseguiu zombando dos supersticiosos hindus.
No dia seguinte, pela manhã, com a desculpa de que se tinha cansado muito no dia anterior, Mister K... que se levantava sempre muito cedo, como todas as pessoas na Índia, dormiu muito tempo e só se levantou ao meio dia. De tarde, o braço direito lhe doía.
–“O velho reumatismo” – observou – “isso passará em poucos dias”.
Mas no segundo dia sentiu tal fraqueza que só andava com dificuldade. Fraqueza e um estranho cansaço em todos os membros.
–“...É como se o sangue de minhas veias se transformasse em chumbo” –
declarou aos amigos.
O apetite estimulado pelo “olho de cobra”, como costumavas dizer, desapareceu bruscamente; declarou-se a insônia. Nenhum narcótico produziu o mínimo efeito. Em quatro dias Mister K... sempre antes em saúde, forte, vermelho, atlético, se convertia num esqueleto. Na quinta noite depois do dia da caça, com os olhos sempre abertos, acordou os mais próximos e o médico que dormia na habitação do lado, gritando como um possesso.
–“Mandem embora essa repugnante besta...” - uivava – “Quem permitiu que entrasse em casa esse animal?... O que quer? Por que olha assim?”
Reunindo suas últimas forças jogou contra um objeto invisível um pesado castiçal, que estilhaçou o espelho.
O médico pensou que o delírio acabava de se apoderar do seu paciente. Mister K...
não deixou de gritar e lamentar-se até a manhã, afirmando que via junto à cama o
kurumbe em quem tinha batido. A visão desapareceu pela manhã; não obstante Mister K...
continuava afirmando o mesmo.
–“Não foi delírio” – gaguejou trabalhosamente – “O anão deve ter entrado, não sei como... Eu o vi em carne e osso, e não na imaginação”.
Na noite seguinte, se bem que seu estado havia piorado, o inglês não viu mais o kurumbe. Os médicos, que nada compreendiam, diagnosticaram um caso de “febre da jangal” (jungle fever) da Índia.
Ao nono dia Mister K... perdeu o uso da fala; morreu ao décimo-terceiro dia.
Se “a força da imaginação supersticiosa mata em data fixa a uma desditosa criatura”, que poder deve ter essa força para matar um gentleman rico e culto, que não acreditava em nada? Estranha coincidência, simples casualidade, nos dirão. Tudo é possível. Mas então essas coincidências são inúmeras nos anais das “Montanhas Azuis”; em si mesmas apresentam um fenômeno muito mais estranho do que a verdade...
Os ingleses reconhecem que nunca aconteceu ter um indígena escapado são e salvo do “olho da cobra” de um kurumbe irritado. E os próprios ingleses declaram que a única salvação é a seguinte; recorrer aos toddes dentro das três primeiras horas após o encontro e pedir ajuda. Se o teralli aceita, cada todde pode facilmente tirar a peçonha do homem envenenado pelo olho. Mas coitado daquele que se acha, depois do olho, a uma distância demasiado grande dos toddes para ser coberta em três horas; e tristeza para aquele a quem lançaram a má sorte e a quem o todde, após ter olhado, se negue a “tirar-lhe o veneno”... Então o doente está condenado à morte certa.
Há no mundo muitos fenômenos, muitas verdades inexplicáveis, ou melhor, que nossos sábios não chegam a explicar. A imprensa se afasta desses fatos estranhos com repugnância, e os evita como a força impura que expulsa o incenso.
No entanto algumas vezes se produzem fatos que a imprensa sarcástica se vê obrigada a perceber e aprofundar. Isso ocorre a cada vez que por conseqüência do supersticioso espanto provocado por encantamentos e feitiçaria uma aldeia inteira queima o autor das bruxarias, seja feiticeiro ou feiticeira. Então, em nome da legalidade e para satisfazer a curiosidade geral os jornais se estendem sobre “as tristes manifestações da incompreensível e entristecedora superstição do nosso povo”.
Um fato semelhante teve lugar na Rússia, há coisa de três ou quatro anos, quando
se julgou e absolveu uma aldeia inteira (sessenta homens, se não estou errada) por ter queimado uma velha meio doida a quem os vizinhos, os mujiques, tinham elevado à dignidade de bruxa. A imprensa de Madras viu-se obrigada recentemente a abordar o mesmo tema em condições quase idênticas. Com a diferença de que nossos humanitários amigos, os britânicos insulares, se mostraram menos indulgentes que os juízes russos; quarenta homens, kurumbes e baddagues, foram enforcados ano passado, Sans Bruit ni Trompette (3).
[(3) Blavatsky escreveu em francês. Discretamente, sem chamar a atenção.]
Todos lembram a espantosa tragédia ocorrida naquela época nas “Montanhas Azuis”, no povoado de Ebanaud, a algumas milhas de Uttakamand. O prefeito do burgo tinha um filho: este caiu subitamente doente e depois entrou em lenta agonia.
Como nos meses anteriores tinham havido vários casos dessa morte misteriosa os baddagues atribuíram a doença da criança ao “olho de cobra” dos kurumbes. Em seu desespero o pai se jogou aos pés do juiz, em outros apresentou denúncia. Os anglo-hindus riram desse evento durante três dias e até expulsaram o monegar com bastante brutalidade. Os baddagues resolveram então fazer justiça pelas próprias mãos: incendiaram a aldeia dos kurumbes até a última casa. E rogaram a um todde que fosse com eles; sem o todde nenhum kurumbe poderia ser queimado pelo fogo ou afogado pela água. É isso que acreditam, os baddagues e nada pode persuadí-los do contrário. Os toddes celebraram conselho e aceitaram; sem dúvida “os búfalos queriam assim”. Acompanhados por um todde os baddagues se puseram a caminho numa escura noite de forte vento e atearam fogo simultaneamente em todas as choupanas dos kurumbes. Nem um só deles escapou à morte; quando saía algum de sua choupana os baddagues o jogavam de novo nas chamas ou o matavam a machado. Só escapou uma velha; teve tempo de se ocultar nas matas.
Denunciou os incendiários. Muitos baddagues foram detidos e ao todde detiveram, junto a eles. Esse foi o primeiro criminoso da tribo que os ingleses encarceraram depois da fundação de Uttakamand. Mas os ingleses não conseguiram enforcá-lo; na véspera de receber a pena capital o todde desapareceu, não se sabe como; no entanto vinte baddagues morreram no cárcere, com o ventre inchado.
Esse processo teve lugar há apenas uns meses. O mesmo drama se representou três anos antes, em Kataguiri. Foi em vão que os defensores e mesmo o promotor
insistiram para se reconhecerem circunstâncias atenuantes a favor dos acusados; efetivamente a única causa era a profunda crença dos indígenas na feitiçaria dos kurumbes e o dano que estes causavam impunemente. Todos pediram, senão a graça, ao menos a não aplicação da pena capital. Seus esforços foram inúteis. Os partidários do cientificismo inglês podem ainda, dando-lhe nome mais sábio, acreditar no efeito do
“olho” e da má sorte; os tribunais ingleses – nunca! No entanto a lei, que tem dois séculos, condenava todos os anos milhares de feiticeiros e feiticeiras ao suplício, e continua vigente na Inglaterra. Não se revogou. Quando necessário, para satisfazer o desejo das massas estúpidas, os santarrões e os ateus como o professor Lancaster, que ordenou castigar o médium americano Sleed, tira-se essa antiga lei do pó do esquecimento e se aplica a um homem, a quem só se pode culpar por impopularidade.
Na Índia essa lei é inútil e pode mesmo se tornar perigosa; ensina aos indígenas que seus senhores compartilhavam antanho sua “superstição”. Mas é tal a força da opinião pública na Inglaterra que a própria lei deve ceder...
Secretária de uma sociedade que tem por objetivo o estudo mais profundo dos problemas psicológicos eu gostaria de provar que não há “superstição” no mundo que não tenha sua origem na verdade. Na realidade nossa Sociedade Teosófica deveria ter-se chamado, em nome mesmo dessa Verdade, “Sociedade dos descontentes com a ciência materialista contemporânea”.
Somos o protesto vivo tanto contra o materialismo grosseiro da época quanto contra a crença irracional demasiada fechada nos estreitos marcos da sentimentalidade, em “espíritos” dos mortos e na comunicação direta entre o mundo do além e o nosso.
Nada afirmamos, nada negamos. E como nossa Sociedade se compõe em sua maior parte de seres que pertencem à elite européia, com muitos nomes conhecidos na ciência e na literatura, atrevemo-nos a não fazer caso das sanções dos órgãos científicos oficiais.
Preferimos seguir uma tática de espera, sem perder, no entanto oportunidade alguma de aproveitar qualquer fato que escape às condições físicas comuns, com a finalidade de apresentá-lo à meditação do público. Deixamos que esses fatos se transformem em reprovação viva à atividade dos mestres das ciências naturais, que a fim de satisfazer a rotina não levantaram um dedo para esclarecer o problema das forças misteriosas da natureza.
Não só procuramos as provas materiais ou irrefutáveis da essência mesma dessas manifestações que o povo batizou com o nome de “feitiçaria”, “arte que cura”, “feitiço”
e que, nos meios místicos dos seres cultos se denominam “fenômenos espíritas”,
“mesmerismo” ou simplesmente “magia” como desejamos penetrar nas próprias causas dessas crenças até as fontes dessa força psíquica que a ciência física continua tomando como embuste e negando com estranha obstinação. Mas como explicar essas crenças? A que devemos atribuir o estranho fato de que as tribos selvagens das “Montanhas Azuis”, que nunca ouviram falar de nossas feiticeiras russas, a fé na “feitiçaria” que encontramos nas aldeias da Rússia se manifesta identicamente em todos os seus detalhes, desde as conjurações dos curandeiros russos até a farmacêutica especial, os compostos de ervas e outros procedimentos do mesmo gênero? E essas mesmas “superstições”, tanto segundo espírito quanto segundo a letra, moram nos povos inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e eslavo. Os latinos dão a mão aos eslavos e ários e os turianos aos semitas, em sua crença comum na magia, encantamentos, clarividência, nas manifestações dos espíritos bons e ruins. Há “identidade” de fé, não em sentido relativo, mas na acepção literal do termo. Já não é “superstição”, mas uma ciência internacional com suas leis, fórmulas invariáveis, suas próprias explicações.
CAPÍTULO VI É muito perigoso sair à noite, desarmado, em certos lugares das “Montanhas Azuis”, perto dos espessos bosques onde moram os kurumbes. Pois bem, junto a uma dessas espessuras entre Kataguiri e Utti mora uma família de euro-asiáticos, bastante rica; a mãe, já anciã, dois filhos e um sobrinho órfão, criado desde o berço pela tia que continua venerando a memória da irmã caçula já falecida. Proibiram à criança entrar no bosque. Mas ela amava muito os pássaros. Um dia, levado pela sua paixão o garotinho afastou-se da casa e se extraviou no bosque. Uma andorinha pulava de galho em galho e ele se esforçava por pegá-la. Desse modo correu atrás do pássaro até o pôr do sol. Em Utti, cidade rodeada por montanhas e penhascos, a passagem do dia para a noite se efetua quase instantaneamente.
Quando se viu no mais espesso bosque o garoto teve medo e apressou-se em voltar para casa. Desditoso, sentiu uma dor repentina no pé; sentou-se então numa pedra e tirou o sapato. Enquanto examinava a ferida, procurando o espinho que penetrara na carne, um gato selvagem pulou de uma árvore e caiu perto dele. Vendo que o animal, não menos apavorado que ele, se preparava para atacá-lo o desditoso garoto, aterrorizado, começou a dar gritos estridentes. Nesse mesmo instante, duas flechas se cravaram nos flancos do animal, que rolou por barranco profundo, mortalmente ferido.
Dois kurumbes, sujos, seminus, se apoderaram do animal e depois falaram ao garoto, rindo de seu temor...
O pequeno pode responder-lhes, pois conhecia sua língua, como todos os euro-asiáticos que vivem nas “Montanhas Azuis”. Com temor de regressar à casa sozinho pediu aos kurumbes que o acompanhassem até lá, prometendo que lhes faria entregar arroz e aguardente. Os mulu-kurumbes aceitaram, e os três se puseram a caminho.
Enquanto andavam o garoto narrou aos companheiros a sua aventura com a andorinha.
Os kurumbes prometeram por sua vez que pegariam para ele todos os pássaros que desejasse, em troca de pequena retribuição. Os kurumbes são conhecidos por sua habilidade na caça; apoderaram-se com tanta facilidade de um pássaro como de um elefante ou tigre. Ficou acertado que os três se encontrariam no dia seguinte, no vale.
Caçariam pássaros. Enfim, o garoto e os kurumbes se tornaram amigos.
Interessa explicar aqui como os kurumbes se apoderam dos pássaros. O anão pega uma vara e a faz virar nas mãos, como se a estivesse polindo, depois a enterra no chão, a dois pés de profundidade, em qualquer matagal. Deita-se de boca para baixo, junto ao matagal, com os olhos fixos para o pássaro, se por casualidade a ave dá pulinhos, lá onde pode ser vista. O kurumbe espera pacientemente. Eis o que escreve acerca deste particular Mister Betler, que uma vez foi testemunha de semelhante “caçada”.
- “Nesse momento os olhos do kurumbe adquiriram estranha expressão... Só vi esse fulgor no olhar das cobras quando, espreitando a presa, fixam-no sobre a vítima, fascinando-a. O sapo preto de Maisur também tem esse olhar fixo, vítreo, que parece brilhar com fria luz interior que atrai e rejeita ao mesmo tempo. Por algumas rúpias um kurumbe permitiu-me presenciar sua captura. O pássaro despreocupado, alegre, ativo, vai de galho em galho e gorjeia. De repente se detém e parece escutar. A cabeça algo inclinada permanece alguns segundos imóvel, depois se sacode e se esforça por escapar.
Algumas vezes o animal levanta vôo, mas isso ocorre raramente. Em geral parece que uma força irresistível o atrai para um círculo encantado e começa a voar de lado para a vara. Eriçam-se suas penas, lança gritinhos queixosos e ainda se aproxima, pulando nervosamente... Por fim está aqui, perto da vara ‘encantada’. De um pulo o pássaro pousa em cima e cumpre seu destino. Não pode mais escapar e permanece grudado na vara. O kurumbe se precipita para o desditoso animal, com rapidez que uma cobra lhe invejaria... e se entregarmos ao anão algumas moedas mais, engole o pássaro vivo, com penas e garras”.
Assim foi como os dois kurumbes se apoderaram de duas andorinhas amarelas e as entregaram ao pequeno Simpson. Mas no mesmo dia enfeitiçaram o garoto. Um dos kurumbes o encantou, como tinha encantado os pássaros.
Apoderou-se de sua vontade, tornou-se dono de seus pensamentos, converteu-o em máquina inconsciente, “hipnotizou-o”. Toda a diferença entre o médico que hipnotiza, e o kurumbe, está no meio escolhido; o primeiro utiliza passes visíveis ou emprega o método científico do magnetismo; no entanto ao último bastava olhar simplesmente o garoto durante a caça e tocá-lo.
Uma mudança manifesta se produziu na conduta do pequeno Simpson. Sua saúde não se ressentiu, e conservou o apetite; mas pareceu envelhecer alguns anos e os pais e
toda a gente da casa se apercebeu de que muitas vezes caminhava como em sonho. Logo começaram a desaparecer objetos de prata na casa da senhora Simpson; colheres, açucareiros, até o crucifixo de prata, depois foi a vez do ouro. Instalou-se muita agitação na casa. A despeito de todos os esforços para descobrir o ladrão, em que pesassem todas as precauções tomadas, os objetos continuaram desaparecendo do armário muito bem fechado e cuja chave a dona de casa nunca abandonava... A polícia, a quem se recorreu, declarou-se impotente para descobrir o culpado. As suspeitas recaíram sobre todos os moradores da casa, sem poder fixar-se em alguém em particular. O servente da casa estava a serviço da família desde muitos anos e a Senhora Simpson confiava tanto nessa pessoa como em si mesma.
Uma tarde a Senhora Simpson recebeu de Madras um pacote contendo pesado anel de ouro. Ocultou-o no armário de aço, pôs a chave sob o travesseiro e resolveu passar a noite sem dormir, querendo descobrir o culpado. Para maior certeza, negou-se a beber o copo de cerveja que sempre tomava, para dormir em seguida. Havia observado, fazia algum tempo, seus membros intumesciam depois de bebê-la e seu sono era pesado.
O garoto dormia num quartinho, perto do dormitório. Pelas duas da madrugada, a porta do quartinho se abriu e à luz da lâmpada a Senhora Simpson viu o sobrinho que entrava.
Por pouco não perguntou o que desejava; mas recuperando-se imediatamente, aguardou com o coração oprimido pela angústia. O garoto se adiantava efetivamente, como um sonâmbulo. Tinha os olhos abertos e o rosto – como ela declarou no tribunal – com a expressão severa, quase cruel. Foi direto à cama, tirou suavemente a chave de sob o travesseiro, com tanta rapidez e destreza que, vendo bem, sentiu a mão do pequeno deslizar em baixo de sua cabeça. Depois abriu o armário, procurou alguma coisa no interior e o fechou.
Tal era o ânimo da Senhora Simpson que ficou um instante sem se mover.
Seu querido sobrinho, um garoto, era ladrão! Onde ocultava os objetos roubados?
Quis saber ao que se ater; era necessário descobrir o ladrão.
A Senhora Simpson se vestiu sem fazer barulho e com rapidez examinou o quarto do sobrinho. Ele já não estava ali, mas a porta para o pátio se achava aberta. Saiu, seguindo as pegadas ainda frescas e percebeu a silhueta do pequeno deslizando perto da gaiola dos pássaros. A lua iluminava o jardim. E a Senhora Simpson observou o gesto do
garoto, que se abaixava para ocultar alguma coisa na terra. Resolveu esperar até a manhã.
“Meu pequeno é sonâmbulo”, pensou. “É inútil acordá-lo e assustá-lo agora”. E a Senhora Simpson entrou na casa, sem deixar de estar convencida de que o garoto se tinha deitado e dormia profundamente. Não obstante, continuava de olhos abertos, como o tinha visto ao se acercar dela. Esse fato a assustou, até espantou; no entanto sua resolução de aguardar a manhã não a abandonou.
No dia seguinte chamou os filhos e narrou os acontecimentos da noite.
Dirigiram-se à gaiola dos pássaros, viram a terra recentemente removida mas nada acharam. O garoto evidentemente tinha cúmplices.
Quando o pequeno regressou da escola a Senhora Simpson o acolheu como sempre: interrogando-o nada se poderia descobrir e talvez esclarecer o problema se mostrasse mais difícil. Serviu-lhe pois a comida mas não parou de observá-lo.
Terminado o almoço levantou-se para lavar as mãos e tirando o anel deixou-o propositalmente sobre a mesa. À visão desse objeto de ouro os olhos do garoto brilharam. Sua tia voltou-se imediatamente, o garoto se apoderou do anel e o colocou no bolso. Depois levantou-se e saiu indolentemente da casa.
A Senhora Simpson o deteve.
-Onde está o meu anel, Tom? – perguntou – Por que você o pegou?
-Que anel? – respondeu o garoto, com indiferença – Não tenho o seu anel...
-Tem em seu bolso, miserável - gritou a Senhora Simpson, dando-lhe forte pancada. E jogando-se sobre o garoto, que permanecia calmo, tomou o anel de seu bolso e o mostrou. Tom não opôs resistência.
-De que anel você me fala? – perguntou à tia, com raiva. É um grão de ouro...
peguei-o para meus pássaros. Por que você me bate?
-E todos os objetos de prata e de ouro que está me roubando há dois meses, eram também grãos, pelo que você diz, mentiroso, ladrãozinho? Onde você os pôs? Fale ou chamo a polícia! – gritou a Senhora Simpson, fora de si.
-Não roubei de você! Nunca tomei algo sem seu consentimento, só uns grãos e um pouco de pão... para os pássaros...
-Onde você pegava os grãos?
-Em casa, no armário...Você não me deu licença para fazê-lo?...Esses grãos de
ouro não se encontram no mercado...Senão, não os teria pedido a você...
A Senhora Simpson compreendeu que se achava frente a um enigma incompreensível, um terrível mistério que não poderia entender. O garoto...seja por um ataque de loucura ou sonambulismo crônico, acreditava dizer a verdade ou, de algum modo, o que pensava ser a verdade...
Percebeu que acabava de cometer um erro. O segredo lhe escapava. O garoto tinha cúmplices, ela os descobrira. E a Senhora Simpson fingiu reconhecer ter errado.
Seu coração sangrava dolorosamente mas continuou e experiência até o fim.
-Diga, Tom – perguntou com ternura – Lembra o dia no qual deixei você pegar no armário de aço os grãos de ouro para os pássaros?
-Foi o dia em que pude pegar os pássaros amarelos – explicou o garoto, subitamente severo – Por que você me bateu?...Você me disse; pegue a chave que está em baixo do meu travesseiro, quando necessite; tome também os grãos de ouro...são melhores para seus pássaros que os grãos de prata. Pois bem, eu os tomei...De todos os modos, resta quase nada – acrescentou Tom, tristemente – e meus pássaros morrerão!
-Quem falou isso a você?
-Ele...aquele que pega para mim os pássaros e me ajuda a alimentá-los.
-Mas quem é ele?
-Não sei – respondeu o garoto, com esforço. E passou a mão pela fronte –Não sei de nada...ele, você o viu muitas vezes...veio, faz uns três dias, na hora do jantar...quando tirei do prato do tio um grão de prata...o tio colocou-o ali para mim...deixou-me pegá-lo...Então o tio me disse sim, com a cabeça e eu o peguei.
Realmente Mistress Simpson lembrou que nesse dia tinham desaparecido misteriosamente dez rúpias de prata que estavam sobre a mesa; seu filho acabava de tirá-las do bolso para pagar uma fatura. Essa perda fora a mais inexplicável de todas.
-Mas a quem você deu os grãos?...Os pássaros não se alimentam de noite...
-Dei a ele, atrás da porta...Ele saiu antes de terminar a ceia. Desta vez tínhamos comido de dia, e não de noite.
-De dia! Às oito da noite é dia para você?
-Não sei...mas era de dia...não houve noite...por outro lado, faz muito que as noites desapareceram...
-Senhor! – lamentou-se a Senhora Simpson, levantando os braços em espanto –
Esta criança enlouqueceu...perdeu o juízo!
De repente ocorreu-lhe uma idéia.
-Pois bem, tome este grão de ouro – disse dando-lhe o broche – Tome, dê aos pássaros...eu olharei você...
Tom de apoderou do broche e correu feliz para a gaiola dos pássaros.
Aconteceu então uma cena que convenceu Mistress Simpson do desajuste das faculdades cerebrais do sobrinho. Ele andava ao redor das gaiolas e jogava grãos imaginários; ora, quase todas as gaiolas estavam vazias. No entanto, Tom esfregava o broche entre os dedos, como se fossem grãos, logo falava aos pássaros ausentes, assobiava e ria de gosto.
-E agora auntie (tia) vou levar o resto para ele guardar...No começo ordenava-me enterrar o que sobrou...mas esta manhã me diz para levá-los lá...Mas você não venha...senão, ele não virá...
-Muito bem, amiguinho, irá sozinho – aceitou Mistress Simpson.
No entanto deteve o sobrinho sob um pretexto qualquer, durante meia hora.
Nesse tempo mandou chamar secretamente um agente policial e após prometer boa recompensa pediu-lhe para seguir o garoto onde ele fosse.
-Se ele entregar o broche a alguém – declarou – detenha o homem; é o ladrão.
O policial chamou um companheiro para ajudar a seguir o garoto por todo o dia.
Quando era noite viram-no dirigir-se à espessura da mata. De repente um anão muito feio saiu dos matagais e fez sinal a Tom que rapidamente seguiu para ter com ele, como um autômato. Vendo o garoto que parecia “derramar” alguma coisa na mão do kurumbe os policiais se apresentaram e o detiveram com a própria prova do delito; o broche de ouro.
O kurumbe livrou-se da questão em alguns dias de cárcere. Não se pode levantar qualquer acusação contra ele; só tinha o broche e o garoto confirmou que entregava de bom grado, “não sabia o motivo”. O tribunal julgou confusas as declarações do pequeno Simpson que “delirava” acerca dos grãos de ouro e não reconhecia o kurumbe. Antes de tudo era menor de idade e o médico o declarou “idiota incurável”. Seu depoimento e as palavras confusas da Senhora Simpson, que não soube explicar o que o sobrinho dissera,
de nada serviram. A declaração do policial não ocorreu; poderia ter peso, pois conhecia o kurumbe como possuidor de objetos roubados. No mesmo dia da prisão do kurumbe o policial caiu doente e morreu em uma semana, alguns dias antes do processo...O assunto terminou assim.
Vimos o desditoso Tom que hoje já tem vinte anos. Quando fomos apresentados vimos um euro-asiático gordo, com bochechas penduradas e que, sentado num banco perto da porta de sua casa torneava grades de gaiola. Os pássaros continuavam sendo sua paixão, como antes. Parece que sua inteligência está normalmente desenvolvida, mas obscurece quando se trata de objetos de ouro ou prata; continua chamando-os “grãos”.
Por outro lado, desde que seus pais o enviaram a Bombaim, onde ficou alguns anos
“vigiado”, essa teimosia começa a desaparecer. Um só sentimento permanece igual nele; o irresistível desejo de fraternizar com os kurumbes.
Para concluir rogarei ao leitor que volte a ler no Dicionário Filosófico de Voltaire a passagem na qual o filósofo assinala as cinco condições que se consideram suficientes para que uma testemunha qualquer possa ser julgada válida. Pois bem, todas essas condições se encontram satisfeitas em nosso relato acerca dos encantamentos e feitiçarias dos mulu-kurumbes.
Veremos se os céticos aceitam nossa exposição, confirmada pelas declarações de muitas testemunhas imparciais. Ou se a maioria, salvo algumas exceções, quererá seguir sendo, apesar da filosofia de Voltaire, plus catholique que le Pape (1).
[(1) Em francês no texto. Equivale a “mais papista que o Papa”.]
Convidamos todos os incrédulos a realizar uma viagem à Índia, particularmente a presidência de Madras, às “Montanhas Azuis”. Que morem ali alguns meses e cheguem a conhecer as “misteriosas tribos” do Nilguiri, especialmente os kurumbes. E ao regressarem à Europa ousem negar, se puderem, a realidade da feitiçaria kurumbe!
Mas as “Montanhas Azuis” representam para o viajante não só o interesse de terreno para experiências ocultas. Quando soar a hora da bem-aventurança – se é que soará algum dia - na qual nossos amigos, das brumosas margens da pérfida e sempre desconfiada Albion, deixem de ver um perigoso espião político em cada inocente turista russo, então os russos viajarão mais freqüentemente à Índia. Os naturalistas de nossa pátria visitarão então a Tebaida montanhosa que descrevemos. E estou convencida de
que para um etnólogo, um geógrafo e um filólogo, sem esquecer os mestres em psicologia, nossas “Montanhas Azuis” ou serras do Nilguiri se apresentarão como tesouro inesgotável para as buscas científicas de todos os especialistas.
H. P. Blavatsky
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















