



Biblio VT




Louisa Mae Cardinal, precoce menina de doze anos, mora na agitada Nova York com seu aclamado (mas mal remunerado) pai escritor, a mãe generosa e o tímido irmão caçula, Oz. Um breve momento aterrador transforma para sempre a vida de Lou e Oz, que são obrigados a partir de trem para as montanhas da Virginia, onde experimentarão aventuras tragicômicas, com as quais aprenderão lições de lealdade, perseverança e redenção.
A história de é ficção, mas o cenário e os nomes de lugares não são. Vivi naquelas montanhas e tive também a sorte de crescer entre duas mulheres que, durante muitos anos, tiveram seu lar nos montes. Minha avó materna, Cora Rose, morou com minha família em Richmond em seus últimos dez anos de vida, mas antes disso vivera cerca de seis décadas na crista de uma montanha do sudoeste da Virginia. Junto dela, fiquei sabendo daquela terra e de como era a vida por lá. Minha mãe, caçula dentre dez irmãos, passou naquela montanha seus primeiros dezessete anos de vida e foi me contando, enquanto eu crescia, muitas histórias incríveis de sua juventude. Na realidade, nem as adversidades nem as aventuras experimentadas pelos personagens do romance lhes são de todo estranhas. Além das histórias que ouvi quando criança, gastei um tempo considerável entrevistando minha mãe para escrever , tempo que foi, sob vários aspectos, muito esclarecedor. Ao atingirmos a idade adulta, a maioria de nós presume que já sabe tudo sobre os pais e outros membros da família. Se dedicarmos, no entanto, algum tempo a nos interrogar e se realmente prestarmos atenção às respostas, podemos descobrir que ainda temos muita coisa a aprender sobre as pessoas que nos são tão próximas. Assim, este romance é, em parte, a reprodução de uma história oral sobre onde e como minha mãe foi criada. Histórias orais são uma arte em extinção, o que sem dúvida é triste, pois elas revelam o devido respeito pelas vidas e experiências daqueles que nos precederam. E, não menos importante, deixam documentado, depois do término dessas existências, um conhecimento pessoal que de outro modo ficaria para sempre perdido. Infelizmente, vivemos numa época em que todos parecem olhar solitariamente à frente, como se julgassem que não há, no passado, nada que pareça digno de atenção. O futuro, sempre novo e vibrante, exerce uma atração que os tempos passados simplesmente não podem satisfazer. Contudo, é bem possível que nossa maior riqueza como seres humanos possa ser "descoberta" com uma simples olhada para trás. Embora eu seja conhecido por meus livros de suspense, sempre me senti atraído pelo passado da Virginia, minha terra natal, pelas histórias de pessoas vivendo em lugares que limitavam extremamente suas ambições, mas lhes proporcionavam uma riqueza de conhecimento e experiência que poucos costumam atingir. Ironicamente, como escritor, passei os últimos vinte anos correndo sem cessar atrás de material para minhas histórias; não conseguia absolutamente ver o rico manancial que havia dentro de minha própria família. E no entanto, embora provavelmente um pouco mais tarde do que devia ter acontecido, escrever este livro foi uma das mais gratificantes experiências de minha vida.
.
.
.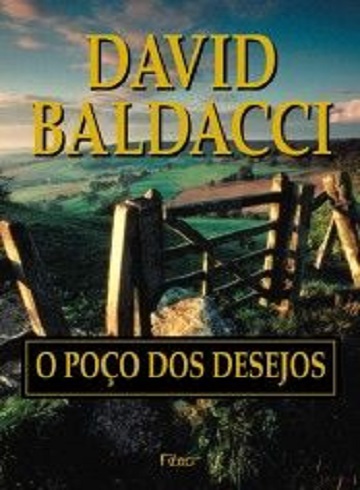
.
.
.
CAPÍTULO UM O ar estava úmido, a chuva era anunciada como iminente por nuvens escuras, grossas, e o céu azul rapidamente se enevoava. O Lincoln Zephyr 1936, de quatro portas, ia descendo a estrada cheia de curvas numa velocidade correta, sem pressa. O interior do carro estava impregnado dos aromas convidativos de pão de centeio quente, frango assado, torta de pêssego e canela, tudo na cesta de piquenique tão tentadoramente instalada entre as duas crianças no banco de trás. Louisa Mae Cardinal, doze anos, alta e magra, cabelo da cor de palha manchada de sol e olhos azuis, era conhecida simplesmente como Lou. Uma bonita menina que, quase certamente, se transformaria numa bela mulher. Mas Lou declarara uma guerra sem tréguas a reuniões sociais, rabos-de-cavalo ou vestidos com babados. Sua natureza era assim. E de alguma forma ia vencer a parada. O caderno de notas estava aberto em seu colo, e Lou ia enchendo as páginas em branco com o que lhe parecia importante. Era como um pescador com sua rede. Pelo ar de satisfação da menina, ela estaria pegando um gordo bacalhau cada vez que a rede era jogada. Como sempre, escrevia com muita atenção. Revelava francamente este caráter atento, ao contrário do pai, de temperamento bem mais agitado. Do outro lado da cesta de piquenique estava Oz, irmão de Lou. O nome abreviava o nome verdadeiro, Oscar. Era um menino de sete anos, baixo para a sua idade, embora com uma promessa de altura nos pés compridos. Não possuía os membros esbeltos e a graça atlética da irmã. Faltavalhe também a autoconfiança, que tão ostensivamente brilhava nos olhos de Lou. Segurava seu velho urso de pelúcia com a força implacável de um lutador, e alguma coisa nele agradava naturalmente às almas dos outros. Após conhecer Oz Cardinal, a pessoa ficava convencida de que o menininho tinha o maior e mais generoso coração que Deus poderia ter concedido a humildes e problemáticos mortais. Jack Cardinal estava na direção. Parecia alheio à tempestade que se aproximava ou mesmo aos demais ocupantes do veículo. Os dedos magros tamborilavam no volante. As pontas tinham calos devido a anos batendo nas teclas da máquina de escrever e havia um sulco permanente no dedo médio da mão direita, no ponto onde a caneta fazia pressão. Honrosas cicatrizes de batalha, ele costumava dizer. Como escritor, Jack trabalhava paisagens nítidas, densamente povoadas com personagens que, embora irregulares, iam parecendo, a cada virada de página, mais reais que as pessoas que conhecemos. Frequentemente os leitores choravam quando um personagem querido acabava morto sob sua pena, mas a distinta beleza da linguagem jamais ofuscava a força áspera da história, pois os temas presentes nas histórias de Jack Cardinal eram de fato poderosos. De repente, uma frase especialmente bem construída se introduzia e fazia a pessoa sorrir, talvez rir em voz alta; sem dúvida uma pitada de humor era com frequência a mais eficiente ferramenta para engavetar, de modo indolor, um ponto sério. Os talentos de Jack Cardinal como escritor tinham lhe rendido muito apoio crítico e muito pouco dinheiro. O Lincoln Zephyr não pertencia a ele, pois extravagâncias como automóveis — de luxo ou triviais — pareciam estar eternamente fora do alcance de seu bolso. O carro fora emprestado para aquela ocasião especial por um amigo e admirador de sua obra. Certamente a mulher sentada a seu lado não tinha se casado com Jack Cardinal por dinheiro. Amanda Cardinal costumava ser capaz de acompanhar as oscilações da mente ágil do marido. Mesmo agora, sua expressão assinalava uma rendição bem-humorada aos movimentos da
imaginação de Jack, o que, aliás, sempre lhe permitia escapar dos 11 irritantes probleminhas da vida. Mais tarde, com o cobertor estendido na grama, o conteúdo da cesta de piquenique distribuído e as crianças querendo brincar, ela cutucaria o marido até fazê-lo abandonar as alquimias literárias. Naquele dia, porém, a caminho do parque, Amanda estava mais preocupada que de hábito. Precisavam do passeio e não apenas para aproveitar o ar fresco ou desfrutar de alguma comida especial. Aquele dia, surpreendentemente quente no final do inverno, era, sob muitos aspectos, uma verdadeira dádiva. Ela contemplou o céu ameaçador. Vá embora, tempestade, por favor, vá embora já. Para acalmar os nervos agitados, Amanda se virou, olhou para Oz e sorriu. Era difícil não se sentir bem olhando para o menininho, embora ele também se assustasse com facilidade. Quantas vezes o filho era assaltado por um pesadelo e Amanda tinha de embalá-lo. Felizmente, assim que Oz se concentrava no rosto dela, o choro assustado era substituído por um sorriso. Amanda, então, tinha vontade de ficar eternamente com o filho nos braços para mantê-lo são e salvo. Os traços de Oz vinham diretamente de Amanda, enquanto a menina exibia uma agradável variação da testa larga da mãe, assim como alguma coisa do nariz pequeno do pai e do recorte compacto de seu queixo. E se perguntassem a Lou, ela ia dizer que puxara somente ao pai. Isto não refletia desrespeito pela mãe, mas indicava que Lou se via, antes de mais nada, como a filha de Jack Cardinal. Amanda tornou a se virar para o marido. — Outra história? — perguntou, os dedos deslizando pelo braço de Jack. A cabeça dele foi lentamente se soltando do último combinado de ideias. Jack a olhou, um sorriso disparando nos lábios grossos que, ao lado do notável brilho dos olhos castanhos, seria, segundo Amanda, sua mais atraente característica física. — Sempre é hora de pensar em outra. — Um prisioneiro das próprias imagens — respondeu Amanda em voz baixa, parando de alisar o braço dele. Enquanto a mente do marido voltava a trabalhar, Amanda apreciou a filha elaborando sua própria história. Via, em Lou, um potencial para muita felicidade e alguma inevitável dor. Sabia que não era possível viver no lugar da filha e sabia que teria de suportar ver sua menininha de vez em quando cair. Amanda, no entanto, jamais estenderia a mão, pois Lou, com seu temperamento, certamente recusaria isso. Mas se os dedos da filha procurassem os seus, Amanda estaria lá. Era uma situação repleta de armadilhas, mas parecia a única adequada a mãe e filha. — Como vai a história, Lou? — Muito bem — disse a menina de cabeça baixa, a mão se movendo no florescente impulso de uma caligrafia jovem. Amanda podia facilmente sentir a mensagem oculta da filha: a escrita não era uma tarefa para ser discutida com não-escritores. Amanda encarou a coisa com o mesmo bom humor que devotava à maioria das coisas relacionadas com uma filha tão inconstante. Mesmo uma mãe, no entanto, de vez em quando precisa de um travesseiro confortável para deitar a cabeça. Então ela estendeu a mão e despenteou o cabelo meio alourado do garoto. Filhos homens não costumam ser tão complicados e, às vezes, enquanto Lou a deixava de cabelos brancos, Oz a rejuvenescia. — E você como vai, Oz? — perguntou Amanda. O garotinho respondeu deixando escapar um cantar de galo que ressoou por todo o interior do carro, sobressaltando até mesmo o desatento Jack. — A professora de inglês disse que sou o melhor galo que ela já ouviu — disse ele cantando de novo e batendo os braços. Amanda riu e mesmo Jack se virou sorrindo para o filho.
Lou deu um sorriso torto para o irmão, mas logo esticou o braço e bateu com carinho na mão
de Oz.
— Você é mesmo um ótimo galo, Oz! — disse ela. — Muito melhor que eu quando tinha a sua idade. Amanda sorriu com o comentário e perguntou ao marido: — Você vai à festa da escola de Oz, não vai? — Mãe — disse Lou —, você sabe que ele está trabalhando numa história. Não vai ter tempo de ir ver o Oz imitar um galo. — vou tentar, Amanda — disse Jack. — Desta vez, vou realmente tentar. — Amanda, porém, sabia que a dúvida no tom do marido era o prenuncio de outra decepção para Oz. E para ela. Amanda tornou a se virar para a frente e olhou pelo para-brisa. Seus pensamentos transpareceram com bastante clareza nos traços do rosto. Passar a vida casada com Jack Cardinal: vou tentar. O entusiasmo de Oz, contudo, não queria diminuir. — E na outra festa vou ser o coelho da Páscoa. Você vai ver, não é, mamãe? Amanda se virou para ele, dando um sorriso franco, procurando mostrar a mais agradável tranquilidade nos olhos. — Sabe que a mamãe jamais perderia uma coisa dessas disse ela, a cabeça fazendo outro movimento gentil. Mas a mamãe ia perder a coisa. Todos iam. CAPÍTULO DOIS Amanda olhava pela janela do carro. Suas preces tinham sido atendidas e a tempestade passara depois de alguns irritantes trechos de chuvisco e uma ou duas rajadas de vento, cujo maior efeito fora um simples roçar dos galhos das árvores. Os pulmões de todos tinham feito muita força, pois eles haviam corrido de uma ponta à outra do parque, completando o suave contorno das extensões de grama. Contando pontos a seu favor, Jack havia acompanhado a turma com a mesma desenvoltura dos demais. Como uma criança, se arremessara pelas trilhas de pedrinhas com Lou e Oz correndo atrás e rindo barulhentamente— Chegara a tirar os sapatos para buscar sorrateiramente um esconderijo, deixando as crianças a procurá-lo. Ao ser encontrado, encenou uma luta furiosa para ser dominado. Mais tarde, para satisfação de todos, concluiu alguns passos de dança plantando uma bananeira. Era exatamente disso que a família Cardinal estava precisando. No final do dia, as crianças tinham desabado de encontro aos pais e todos cochilaram ali mesmo, formando uma enorme bola que respirava fundo, os membros dobrados em ângulos incríveis os suspiros de gente cansada e feliz em repouso. Uma parte de Amanda poderia ficar ali deitada para o resto da vida. Era como se já tivesse realizado tudo que o mundo pudesse razoavelmente exigir dela. Então no caminho de volta, rumo à cidade, rumo a casa pequena mas muito querida, que já não seria deles por muito tempo Amanda sentiu uma crescente inquietação. Ela realmente não gostava de discussões, mas às vezes, sendo a causa importante, era preciso discutir. Olhou para o banco de trás. Oz dormia. O rosto de Lou estava virado para a janela; ela também parecia cochilar. Como raramente tinha o marido só para ela, Amanda concluiu que o momento era aquele. — Temos realmente de conversar sobre a Califórnia disse em voz baixa.
Jack contraiu os olhos, embora não houvesse sol; na realidade, a escuridão ao redor já era quase completa. — Os contratos já bateram no estúdio de cinema. Amanda reparou que ele dissera isso sem o menor sinal de entusiasmo. E estimulada por esta reação, resolveu apertar: — Você é um escritor premiado. com uma obra que já está sendo ensinada nas escolas. Tem sido considerado o mais talentoso ficcionista de sua geração! — E daí? — Ele parecia cansado de tantos louvores. — Daí por que ir para a Califórnia e deixar que lhe digam o que escrever? — Não tenho opção. — A luz nos olhos dele se embaçou. — Jack, você tem opção! — Amanda lhe agarrara o ombro. — Não fique pensando que escrever para o cinema vai tornar tudo perfeito, porque não vai! A subida da voz da mãe fez Lou se virar lentamente e encarar os dois. — Obrigado pelo voto de confiança — disse Jack. — Realmente gostei, Amanda. Especialmente agora! Você sabe que não está sendo fácil para mim. — Não se trata de confiança. Se ao menos pensasse no... Inclinando-se de repente no banco, Lou encostou o braço no ombro do pai enquanto a mão de Amanda recuava. O sorriso de Lou era largo, mas obviamente forçado. — Acho que vai ser ótimo ir para a Califórnia, pai. Jack sorriu e deu um tapinha na mão de Lou. Amanda pôde sentir a alma de Lou nas alturas ante aquele gesto ligeiro de gratidão. Sabia que Jack não tinha uma noção clara do poder que exercia sobre a menina; era como se todos os desejos de Lou fossem avaliados pela possibilidade de agradar ou não a ele. E isso assustava Amanda. — Jack, a Califórnia não é a solução, simplesmente não é! Procure entender — disse ela. — Isso não o fará feliz. Havia amargura na expressão do marido. — Estou farto de ter críticas maravilhosas, prêmios na prateleira e não conseguir sequer dinheiro suficiente para manter minha família. Toda a minha família. — Olhou para Lou e, no rosto dele, brotou uma emoção que Amanda interpretou como vergonha. Teve vontade de se inclinar para o lado e abraçá-lo, dizer que era o homem mais incrível que ela conhecera. Mas já lhe dissera isto antes e eles continuavam indo para a Califórnia. — Posso voltar a lecionar — disse Amanda —, o que pode lhe dar liberdade para escrever. Sem dúvida, muito depois de todos nós morrermos, as pessoas continuarão a ler Jack Cardinal. — Gostaria de ir para um lugar onde soubessem me valorizar enquanto ainda estou vivo. — Você é valorizado. Ou será que nós não contamos? Jack, um escritor traído pelas próprias palavras, pareceu espantado. — Não foi isso que eu quis dizer, Amanda. Desculpe. — Pai — disse Lou, estendendo a mão para o caderno —, acabei a história de que eu falei. O olhar de Jack continuou em Amanda. — Lou, agora estou conversando com sua mãe. Havia semanas Amanda andava pensando; na realidade, andava pensando desde que o marido falara dos planos de uma vida nova escrevendo roteiros de cinema entre o sol e as palmeiras da Califórnia e ganhando consideráveis somas de dinheiro. Ela achava que Jack estaria utilizando mal sua capacidade ao pôr em palavras as ideias de outras pessoas, ao substituir histórias nascidas dentro dele pelas que pudessem render a maior quantidade possível de dólares. — Por que não vamos para a Virginia? — disse ela, prendendo logo a respiração. Os dedos de Jack apertaram o volante. Lá fora não havia outros carros e as únicas luzes vinham das lanternas do Zephyr. O céu era um teto comprido formado por uma névoa suspeita. Não
havia brechas com estrelas para guiá-los. Podiam estar avançando pela superfície plana de um oceano azul ou subindo e descendo algumas lombadas; a sensação seria a mesma. Sem dúvida, a mente de uma pessoa se deixaria facilmente enganar por uma tal conspiração de céus e terra. — O que há na Virginia? — O tom era muito cauteloso. com um sentimento crescente de frustração, Amanda agarrou-lhe o braço. — Sua avó! O sítio nas montanhas. O cenário para tantos livros incríveis. Você tem escrito a vida inteira sobre isso, mas nunca voltou lá. As crianças nem chegaram a conhecer Louisa. Meu Deus, eu mesma nem cheguei a conhecer Louisa! Não acha que já está na hora? A voz exaltada de Amanda fez Oz acordar, mas a mão de Lou estendeu-se para ele, cobrindo seu peito delicado, transferindo-lhe calma. Para Lou, um gesto como aquele já se tornara uma coisa automática. Amanda não era a única protetora com que Oz podia contar. Jack olhava fixo à frente, visivelmente irritado por aquela conversa. — Se as coisas correrem como estou planejando, ela vai morar conosco. Tomaremos conta dela. Louisa não pode ficar lá sozinha com a idade que tem. — acrescentou sombriamente: — É uma vida muito difícil. — Louisa jamais deixará as montanhas — disse Amanda balançando a cabeça. — Só a conheço pelas cartas e por tudo que você me contou, mas sei disso. — Bem, não se pode viver eternamente no passado. E estamos indo para a Califórnia. Vamos nos dar muito bem por lá! — Jack, não pode estar realmente acreditando nisso. Não pode! Lou se inclinou de novo para a frente. Era toda cotovelos, pescoço, joelhos — membros esguios que pareciam crescer diante dos olhos do pai e da mãe. — Não quer mesmo, papai, que eu fale da minha história? Amanda pôs a mão no braço de Lou e, olhando para a cara assustada de Oz, tentou lhe passar um sorriso tranquilizador, mesmo que tranquilidade fosse a última coisa que sentisse. Sem dúvida não era o melhor momento para uma discussão. — Lou, espere só um minuto, querida... Podemos conversar depois, Jack. E não na frente das crianças. — De repente, sentira medo que a coisa fosse longe demais. — Em que não posso estar realmente acreditando? — Jack, agora não. — Você começou a conversa. Não me culpe por querer levá-la até o fim. — Jack, por favor... — Agora, Amanda! O marido nunca lhe falara naquele tom, o que, em vez de deixá-la assustada, só aumentou sua raiva. — Tem passado muito pouco tempo com as crianças disse. — Está sempre viajando, fazendo conferências, atendendo a compromissos! Todos querem um pedaço de Jack Cardinal, mesmo que não estejam dispostos apagar pelo privilégio. Acha realmente que as coisas serão melhores na Califórnia? Lou e Oz nem o verão mais! Os olhos, os maxilares e a boca de Jack formaram uma barreira de desafio. Sua voz, quando veio, era uma potente combinação de mágoa com a intenção de dar o troco à mulher. — Está querendo dizer que não dou atenção aos meus filhos? Amanda compreendeu a tática; mesmo assim sucumbiu a ela. — Talvez — disse em voz baixa — não tenha essa intenção, mas está sempre tão envolvido com seu trabalho... — Ele nos dá atenção — disse Lou quase saltando para o banco da frente. — Está falando besteira. Está errada! Errada! A densa barreira de Jack desabou sobre Lou. — Não fale assim com sua mãe! Nunca mais! Amanda olhou para Lou e tentou encontrar algo
de conciliador para dizer. A filha, porém, foi mais rápida. — Pai, esta é realmente a melhor história que já escrevi. Juro! vou dizer como começa... Mas Jack Cardinal, talvez pela primeira vez na vida, não estava interessado numa história. Virou-se diretamente para a filha. Sob a severidade do olhar do pai, mais depressa do que Amanda pôde tomar fôlego, a expressão de Lou foi da esperança a uma decepção selvagem. > — Lou, eu disse que agora não! Depois que Jack lentamente se virou, ele e Amanda viram a mesma coisa, ao mesmo tempo, algo que tirou todo o sangue dos rostos dos dois. O homem estava se debruçando na mala do carro enguiçado. Tudo tão perto que Amanda chegou a ver, sob a luz dos faróis, o quadrado de uma carteira no bolso de trás do desconhecido, alguém que nem teria tempo de se virar para ver a morte que vinha buscá-lo a oitenta por hora. — Oh, meu Deus — Jack gritou, dando um golpe de direção para a esquerda. O Zephyr respondeu com inesperada agilidade, conseguindo se esquivar do outro carro e deixando o descuidado motorista viver mais um dia. Logo, no entanto, o Zephyr estava saindo da estrada e resvalando por um barranco. Havia árvores na frente e Jack puxou o volante para a direita. Amanda gritou, estendendo os braços para os filhos enquanto o carro guinava sem controle. Ela podia pressentir que mesmo a pesada carroceria de um Zephyr não conseguiria manter o equilíbrio. O pânico brilhou como dólares de prata nos olhos de Jack, a respiração sufocada na garganta. Enquanto o carro derrapava, cruzando a estrada para o acostamento de terra na outra margem, Amanda se atirou no banco de trás, envolvendo os filhos com os braços, apertando os dois, procurando escorar com o próprio corpo tudo que era duro e perigoso no interior do carro. Jack deu uma guinada no volante para o outro lado, mas o Zephyr havia perdido toda a estabilidade e os freios já eram inúteis. Depois de contornar um amontoado de árvores que teriam sido fatais, o carro fez o que Amanda temera desde o primeiro momento: capotou. Quando a capota do carro bateu no barro, a porta do motorista se abriu bruscamente e, como um nadador envolvido por súbita correnteza, Jack Cardinal foi atirado longe. O Zephyr capotou de novo, mas o golpe que deu numa árvore diminuiu o impulso. Estilhaços de vidro choveram em cascata sobre Amanda e as crianças. O barulho de metal sendo rasgado se misturou com gritos e tudo ficou terrível — o cheiro da gasolina escorrendo, das ondas de vapor impregnando o ar. Cada vez que o carro completava um giro, batia em alguma coisa e virava de novo. Amanda, com uma força que não podia ser inteiramente dela, mantinha Lou e Oz apertados contra o banco. Absorvia cada pancada, mantendo-as longe deles. O ferro do Zephyr travou uma horrível batalha com a terra socada do acostamento, mas o solo finalmente triunfou e a capota e o lado direito do carro vergaram.Uma parte mais afiada atingiu a nuca de Amanda e o sangue começou a jorrar. Quando Amanda afundou, o carro deu um último giro e parou de cabeça para baixo, o capo voltado para o lado de onde eles tinham vindo. Oz se esticou para a mãe e só a incompreensão do que estava acontecendo separou o menino de um pânico possivelmente fatal. com um ágil movimento de gangorra, Lou conseguiu se livrar das destroçadas entranhas do carro. Por alguma razão, os faróis do Zephyr ainda funcionavam e ela procurou freneticamente o pai naquela confusão de luz e sombra. Ouviu, então, os passos se aproximando e começou uma prece, agradecendo pelo fato dele ter sobrevivido. De repente os lábios pararam de se mexer. Na esteira dos faróis, ela vira o corpo esparramado no chão, o pescoço num ângulo que rejeitava qualquer ideia de vida. Nesse momento, alguém bateu com a mão no carro. Era o sujeito que quase fora atropelado. Ele estava dizendo alguma coisa, mas Lou preferiu não ouvir o homem cujos atos de negligência
haviam acabado de destruir sua família. Virou-se para a mãe. Amanda Cardinal também vira o contorno do marido no mesmo feixe implacável de luz. Por um instante, absurdamente longo, mãe e filha compartilharam um olhar que transmitia uma mensagem perfeitamente unilateral. Traição, aversão, raiva. Amanda leu tudo isso no rosto da filha. E essas emoções cobriram Amanda como uma laje de concreto sobre sua cripta, excedendo em muito a soma total de cada pesadelo que já tinha enfrentado. Quando Lou virou a cabeça, a mãe que despertava do choque estava arruinada. E ao fechar os olhos, tudo que Amanda ouvia eram os gritos de Lou pedindo que o pai voltasse. Que não a deixasse sozinha. Então, para Amanda Cardinal, não houve mais nada. CAPÍTULO TRÊS Havia uma calma religiosidade no sonoro toque do sino da igreja. Como pancada de chuva, os sons cobriam a área onde as árvores estavam se enchendo de verde e a grama florescia após o descanso do inverno. Os rolos de fumaça das lareiras do agrupamento de casas encontravam-se no céu claro. E para os lados do sul, eram visíveis as imponentes agulhas, os incríveis minaretes da cidade de Nova York. A perfeição desses monumentos a milhões de dólares e a milhares de costas cansadas parecia agora lutar por espaço sob a coroa do céu azul. A grande igreja de pedra surgia como sólida âncora, algo incapaz de ser deslocado, não importa a magnitude do problema que lhe assaltasse as portas. Aquele amontoado de pedras e torres parecia capaz de proporcionar conforto a qualquer um que se aproximasse. E no interior das paredes grossas, havia outro som além do repique devoto do sino. Um canto devoto. Derramando-se pelas galerias, os coros etéreos do "Damos Graças ao Senhor" congregavamse ao redor dos retratos de homens de colarinho branco, gente que passara a maior parte da vida absorvendo confissões de culpa e distribuindo resmas de ave-marias como salvação espiritual. Depois as ondas de som iam contornando imagens santificadas de Jesus morrendo ou subindo aos céus até alcançarem uma pia de água benta ao lado da entrada principal. Criando vários arco-íris, a luz do sol filtrava-se pelas janelas, cujas vidraças se estendiam, em brilhantes tonalidades, de uma ponta à outra daqueles corredores de Cristo e de pecadores. Antes de serem relutantemente introduzidas na missa, as crianças costumavam dizer "ooh" e "ahh" diante do espetáculo colorido, admirando-se muito, sem dúvida, dos ótimos arco-íris que podiam existir nas igrejas. No próprio pináculo da nave, do outro lado das portas duplas de carvalho que havia atrás do coro, um minúsculo organista martelava o instrumento com espantosa energia para alguém tão idoso, tão mirrado — "Damos Graças ao Senhor" trombeteava cada vez mais alto. O padre estava de pé no altar, braços compridos se estendendo com decisão para dar consolo e indicar a sabedoria divina. Por mais que a onda de dor com que se defrontava pudesse desafiá-lo, uma prece de esperança saía de sua boca. Sem dúvida estava precisando de muito apoio divino, pois nunca era fácil abordar uma tragédia invocando a vontade de Deus. O caixão se achava na frente do altar. Embora o mogno envernizado estivesse coberto com cravos, ramalhetes de delicadas margaridas e um sólido punhado de rosas, o que chamava a atenção das pessoas era a dura placa de madeira. Como se cada um estivesse fitando a mão de alguém avançando para a própria garganta. Jack e Amanda Cardinal tinham trocado juras de amor eterno naquela igreja. Nunca voltaram lá e nenhum dos convidados do casamento teria imaginado a presença dos dois numa missa de corpo presente catorze anos mais tarde.
Lou e Oz estavam sentados no banco da frente da igreja lotada. Oz apertava o urso contra o peito. Tinha o olhar muito baixo e uma coleção de lágrimas batendo na madeira lisa da parte do banco que ficava entre suas pernas, pernas magricelas que ainda não atingiam o chão. Fechado ao lado dele, havia um hinário azul; cantar estava, por enquanto, absolutamente fora de cogitação. Lou mantinha o braço em volta do ombro de Oz, mas os olhos nunca saíam do caixão. Não fazia mal que estivesse tampado. Nem o escudo de belas flores ia obscurecer a imagem do corpo lá dentro. Naquele dia, Lou estava usando um vestido, o que acontecia muito raramente. Os detestáveis uniformes não contavam; ela só os usava para atender às exigências do colégio católico que frequentava com o irmão. O pai sempre gostara de ver a filha de vestido. Certa vez, chegou a desenhá-la usando um para um livro infantil que planejava escrever, mas que nunca chegou a iniciar. Lou puxou as meias brancas, que subiam até os joelhos ossudos e davam uma sensação de desconforto. Os sapatos novos, pretos, apertavam os pés compridos, estreitos, os pés que estavam bem firmes no chão. Lou não se preocupava em cantar "Damos Graças ao Senhor". Ouvira o padre dizer que a morte era meramente o começo, um começo que, segundo os enigmáticos desígnios de Deus, era uma ocasião para festejar, não para lamentar. Depois disso, não quis ouvir mais nada e não chegara sequer a rezar pela pobre alma do pai. Sabia que Jack Cardinal fora um homem bom e um magnífico escritor e contador de histórias. Sabia que ia deixar profunda saudade. Nenhum coro, nenhum homem do clero, nenhum deus precisava lhe dizer essas coisas. Quando o canto parou e o padre retomou sua digressão, Lou captou um pouco da conversa de dois homens atrás dela. O pai, em sua busca de trechos promissores de conversa, virara um franco bisbilhoteiro e a filha passara a compartilhar da mesma curiosidade. Agora tinha ainda mais razão para colocá-la em prática. — Então, já conseguiu chegar a alguma ideia brilhante? — sussurrou o homem mais velho para o mais novo. — Ideia? Só temos de cuidar da hipoteca de uma casa vazia — foi a agitada resposta do homem mais novo. O mais velho balançou a cabeça e falou numa voz ainda mais baixa, que Lou teve de fazer força para ouvir. — Não está vazia. Jack deixou dois filhos e uma esposa. — Esposa? — O homem mais novo olhou de relance para o lado e disse num sopro baixo. — Se as crianças fossem órfãs dava no mesmo. Não estava claro se Oz tinha ouvido aquilo, mas ele ergueu a cabeça a pôs a mão no braço da mulher a seu lado. Era Amanda, sentada numa cadeira de rodas. Do outro lado da mãe, havia uma enfermeira corpulenta, os braços cruzados sob o busto, obviamente indiferente à morte de um estranho. Uma grossa atadura envolvia a cabeça de Amanda e o cabelo ruivo fora bastante aparado. Seus olhos estavam fechados. Na realidade, não se haviam aberto uma única vez desde o acidente. Os médicos disseram a Lou e a Oz que as sequelas físicas da mãe tinham sido, em sua maior parte, eliminadas. O problema agora era resolver o lado da alma, que ela parecia estar perdendo. Mais tarde, um carro fúnebre partiu da frente da igreja carregando o pai de Lou e ela nem mesmo olhou. Já dera, mentalmente, seu até logo. O coração, no entanto, jamais poderia fazê-lo. Foi puxando Oz por fendas entre ternos sombrios e vestidos de tons escuros. Lou estava farta de rostos tristes, de olhos úmidos captando a secura dos seus e tentando telegrafar mensagens de simpatia, farta das bocas que repisavam comentários sobre a perda devastadora que atingira coletivamente o mundo
literário. Bem, não eram os pais deles que estavam deitados naquele caixão! A perda era dela, dela e do irmão. Claro, já estava cansada de gente deplorando uma tragédia da qual não poderiam entender nem o começo. "Sinto muito", murmuravam. "Que tristeza. Um grande homem. Um ótimo homem. Abatido em plena juventude. Tantas histórias ainda por contar." E Lou começara a responder: — Não precisa se sentir assim. Não escutou o que disse o padre? É uma ocasião para comemorar, A morte é uma coisa boa. Vamos lá, venha cantar comigo! As pessoas a encaravam, sorriam nervosas e iam procurar outra pessoa para "comemorar", alguém cujo temperamento pudessem compreender melhor. No final de tudo, haveria o serviço ao lado do túmulo, onde o padre, sem dúvida, diria outras palavras edificantes, abençoaria as crianças, consagraria com sua água benta o primeiro punhado de terra a cair na cova antes que, encerrando o espetáculo tremendamente estranho, mais dois metros de aterro fossem ali jogados. A morte devia ter o seu ritual, pelo menos a sociedade dizia que sim. Lou não pretendia investir contra isso, pois tinha um assunto mais urgente a tratar naquele momento. Os mesmos dois homens estavam no estacionamento gramado. Livres do ambiente eclesiástico, debatiam em tons normais o futuro do que restava da família Cardinal. — Graças a Deus Jack não me nomeou como inventariante — disse o homem mais velho, tirando um maço de cigarros do bolso da camisa. Acendeu um, apagando a chama do fósforo entre o polegar e o indicador. — Deve ter imaginado que eu estaria morto há muito tempo quando ele batesse as botas. — Não podemos deixá-los assim, morando com estranhos — disse o homem mais novo, baixando os olhos para os sapatos envernizados. — As crianças precisam de alguém. O outro homem soltou um pouco de fumaça e seu olhar resvalou pelo teto arredondado do carro fúnebre. No céu, um bando de melros parecia estar formando uma espécie de guarda de honra; como se quisessem prestar uma homenagem a Jack Cardinal. O homem sacudiu a cinza. — As crianças deviam ficar com gente da família, mas parece que esses dois não têm mais ninguém. — com licença. Quando se viraram, viram Lou e Oz olhando para eles. — Nós ainda temos alguém da família — disse Lou. Nossa bisavó, Louisa Mae Cardinal. Ela mora na Virginia. Onde meu pai foi criado. O homem mais novo pareceu aliviado, como se o fardo do mundo, ou pelo menos das duas crianças, ainda pudesse ser retirado de seus ombros estreitos. O ar do mais velho, no entanto, foi de desconfiança. — Bisavó? — perguntou. — Ela ainda vive? — Meus pais estavam falando de uma mudança para a Virginia, para morar com ela, quando aconteceu o acidente. — Tem certeza que ela vai querer ficar com vocês? quis saber avidamente o homem mais novo. — Vai querer — foi a imediata resposta de Lou, embora não fizesse a menor ideia se a mulher ia mesmo querer. — Vai ficar com todos nós? — A pergunta vinha de Oz. Lou sabia que o irmão caçula estava pensando na mãe, presa à cadeira de rodas. Olhando para os dois homens, ela respondeu num tom muito firme: — com todos nós. CAPÍTULO QUATRO Quando olhou pela janela do trem, Lou achou que jamais se importara muito com a cidade de
Nova York. Era verdade que, na infância, experimentara muitas de suas ecléticas oferendas e seus dias foram cheios de visitas a museus, zoológicos e teatros. Elevou-se acima do mundo na plataforma de observação do Empire State Building; passeou pelas ruas rindo e gritando, flagrando os moradores da cidade em situações engraçadas ou tristes; observou cenas de envolvimento emocional e testemunhou apaixonadas exibições de protesto público. Fizera alguns desses passeios com o pai, que costumava dizer que a opção de ser escritor não era mera seleção de uma ocupação, mas escolha de um estilo de vida totalmente absorvente. O negócio de um escritor, ele destacava cuidadosamente, era a trama da vida, vista em sua enaltecedora glória e complexa fragilidade. E Lou, inteirada dos resultados das observações do pai, se deixara cativar pela leitura e pelas reflexões dos mais talentosos escritores da atualidade, chegando a conhecer alguns na privacidade do modesto apartamento de dois quartos num prédio antigo do Brooklyn, onde moravam os Cardinal. A mãe também levara ela e Oz a todos os recantos da cidade, pondo os dois em contato com os mais diferentes níveis econômicos e sociais da civilização urbana. Amanda Cardinal era uma mulher muito bem-educada, intensamente curiosa a respeito de tais coisas, e as crianças haviam recebido uma formação bastante consistente, que fizera Lou respeitar a vida dos demais seres humanos e se manter atenta a isso. Apesar de tudo isso, no entanto, ela nunca chegara realmente a se deixar empolgar pela cidade. De fato, sua avidez parecia mais centrada no lugar para onde estavam indo agora. A despeito de Jack Cardinal ter morado a maior parte da vida adulta em Nova York (onde estava cercado por um grande suprimento de materiais para novas histórias, um suprimento que outros escritores tinham sabido colher com sucesso crítico e comercial através dos anos), ele preferia basear seus romances no lugar para onde agora o trem carregava sua família: as montanhas da Virginia, que se elevavam no pé da bota topográfica do estado. E desde que o pai querido julgara que o lugar podia fornecer inspiração para o trabalho de sua vida, não foi difícil para Lou aceitar a ideia de ir para lá. Chegou para o lado, pois Oz também queria dar uma olhada pela janela. Se um dia esperança e medo fossem comprimidos numa única emoção e revelados por uma única fisionomia, eles estavam agora no rosto do menino. Cada vez que respirava, Oz Cardinal parecia à beira de rir até as costelas furarem o peito ou a cair duro no chão em terror extremo. No total, porém, houve apenas algumas lágrimas. — Parece menor daqui. — Ele inclinou a cabeça para a passagem rápida das luzes artificiais da cidade e das placas de aço escoradas em estacas na margem dos trilhos. Lou abanou a cabeça, mas acrescentou: — Espere até ver as montanhas da Virginia... Sim, elas são altas. E ficam sempre altas, não importa de onde você as veja. — Como sabe disso? Nunca viu essas montanhas. — É claro que vi. Nos livros. — Mas elas parecem assim tão grandes no papel? Se Lou não soubesse como era a coisa, ia achar que Oz estava querendo ser engraçado. O irmão, no entanto, era desprovido dos pés à cabeça de qualquer traço de malícia. — Confie em mim, Oz, são grandes. E também li sobre elas nos livros do papai. — Não leu todos os livros do papai. Ele dizia que você ainda não tinha idade. — Bem, li pelo menos um. E ele leu pedaços dos outros para mim. — Falou com aquela mulher? — Que mulher, Louisa Mae? Não, mas as pessoas que escreveram para ela disseram que Louisa realmente queria que a gente fosse. — Isso é uma boa coisa, eu acho — disse Oz, depois de refletir um pouco. — Sim, é.
— Será que é parecida com o papai? — Acho que nunca vi uma fotografia dela. — A irmã pareceu meio confusa e ficou evidente que a resposta deixou Oz meio perturbado. — Ela não pode ser grosseira e mal-encarada? E se for, não é melhor voltarmos para casa? — Agora nossa casa fica na Virginia, Oz — disse Lou, sorrindo. — E tenho certeza que Louisa não é mal-encarada. Nem grosseira. Se fosse, não teria concordado em ficar conosco. — Mas as bruxas às vezes fazem isso, Lou. Está lembrada da Hansel e do Gretel? Elas enganam você. Porque querem comê-la. Todas fazem isso. Eu sei; também leio livros. — Enquanto eu estiver aqui, nenhuma bruxa vai incomodá-lo. — Ela agarrou o braço dele num gesto de solidariedade; Oz finalmente relaxou e olhou para os outros ocupantes da cabine. A viagem fora inteiramente financiada pelos amigos de Jack e Amanda Cardinal. Atuando coletivamente, eles não haviam poupado despesas. A família seria enviada com conforto para sua nova vida, o que incluía uma enfermeira para acompanhá-los na viagem e para ficar com eles na Virginia por um razoável período de tempo, cuidando de Amanda. Infelizmente, a enfermeira parecia acreditar que, além de supervisionar a saúde da mãe, também lhe competia disciplinar crianças teimosas. Compreensivelmente, ela e Lou não andavam se dando muito bem. As crianças contemplaram a mulher alta e ossuda inclinar-se sobre sua paciente. — Podemos ficar um pouco sozinhos com a mamãe? Oz conseguiu finalmente perguntar com um fio de voz. Para ele, a enfermeira era parte megera, parte gênio do mal saída de um conto de fadas. Deixava-o mortalmente assustado. Oz pressentia que, a qualquer momento, a mão da mulher poderia se transformar numa faca e ele no alvo solitário da lâmina. Sem dúvida a ideia de uma bisavó com certas características de bruxa não saíra inteiramente da infeliz história de Hansel e Gretel. Oz não nutria esperanças de que a enfermeira fosse concordar com seu pedido, mas, surpreendentemente, ela concordou. Quando ela fechou a porta da cabine, Oz se virou para Lou. — Acho que não é assim tão má. — Oz, ela só saiu porque queria fumar. — Como sabe que ela fuma? — Se não bastassem as manchas de nicotina nos dedos, o hálito só cheira a cigarro. Oz sentou-se ao lado da mãe. Amanda estava deitada no leito inferior, os braços sobre o corpo, os olhos fechados, a respiração rasa, mas pelo menos viva. — Somos nós, mamãe, eu e a Lou. — Oz, ela não pode ouvi-lo — disse Lou num tom exasperado. — Sim, pode! — Embora Lou já estivesse acostumada a quase todas as variações do comportamento de Oz, a aspereza da reação a sobressaltou. Ela cruzou os braços e virou o rosto. Quando tornou a olhá-lo, Oz abria uma caixinha que havia tirado da mala. O cordão que puxou de lá tinha uma pequena pedra de quartzo. — Oh, por favor — implorou a irmã —, quer parar? Ele a ignorou e suspendeu o cordão sobre o peito da mãe. Amanda podia comer e beber, mas por alguma razão insondável não conseguia mover os braços, nem as pernas, nem falar, e seus olhos nunca se abriam. Embora o estado da mãe deixasse Oz muito preocupado, ele também tinha esperanças. Imaginava que devia haver alguma coisinha no lugar errado, como uma pedra num sapato, uma rolha num cano. O que se tinha a fazer era meramente remover a obstrução para a mãe voltar a conviver com eles. — Oz, não seja tolo. Não faça isso. Oz parou e olhou para ela. — Seu problema é que você não acredita em nada, Lou. — E o seu é que você acredita em tudo.
Oz começou a balançar o cordão de um lado para o outro sobre o rosto da mãe. Depois fechou os olhos e começou a falar alguma coisa que ninguém, talvez nem ele próprio, conseguiria compreender muito bem. Lou se levantou, inquieta, e por fim não pôde mais tolerar aquela loucura. — Quem vir você fazendo isso, vai achar que é maluco. E sabe de uma coisa? Acho que é mesmo! — Bem, estragou tudo. — Oz parou com seus encantamentos e contemplou-a com ar irritado. — Era preciso um silêncio completo para a cura dar certo! — Cura? Que cura? Do que está falando? — Quer que a mamãe fique sempre assim? — Bem, se ficar, a culpa foi dela — explodiu Lou. — Se não estivesse discutindo com o papai, nada disso teria acontecido. Oz ficou chocado com aquelas palavras. Mesmo Lou pareceu espantada por ter tido a coragem de dizer uma coisa daquelas. Mas já que o dissera, seria incapaz de tirar uma única vírgula. Ela era assim. Nenhum deles olhou para Amanda nesse momento, mas se o tivessem feito veriam alguma coisa, um leve tremor das pálpebras, o que poderia sugerir que ela tivesse conseguido ouvir as palavras da filha e tivesse caído ainda mais no fundo daquele abismo onde já se encontrava tão encurralada. Embora a maioria dos passageiros nem se desse conta, à medida que os trilhos se afastavam da cidade rumo ao sul, o trem ia fazendo uma curva à esquerda. com a inclinação, o braço de Amanda escorregou da barriga e ficou balançando ao lado da cama. Por um instante, Oz permaneceu atônito. O menino, sem dúvida, acreditava que tivesse acabado de testemunhar um milagre de dimensões bíblicas, como ver uma pedra se transformar num gigante. — Mamãe! Mamãe! — Ele gritava, quase arrastando Lou para o chão em seu entusiasmo. — Lou, você viu isso? A princípio Lou nem reagiu, pois se convencera de que a mãe ficara para sempre incapacitada de fazer qualquer gesto. Começara, no entanto, a pronunciar a palavra "mamãe" quando a porta da cabine se abriu e a enfermeira encheu o espaço como uma avalanche de pedregulhos, o rosto crispado, de mau humor e aborrecimento. Filamentos de fumaça de cigarro ainda pairavam sobre sua cabeça, como se ela fosse entrar em combustão espontânea. Se Oz não estivesse tão concentrado na mãe, talvez pulasse pela janela ante aquela aparição. — Que está acontecendo aqui? — Ela oscilou para a frente quando o trem, antes de se lançar como flecha através de Nova Jersey, deu um novo solavanco. Oz soltou o cordão e apontou para a mãe. Lembrava um cão de caça esperando algum elogio. — Ela se mexeu. Mamãe mexeu o braço! Nós dois vimos, não foi, Lou? Lou, no entanto, ficou calada, o olhar passando da mãe para Oz e vice-versa. Era como se alguém tivesse encaixado uma vara em sua garganta; ela não conseguia formar palavras. A enfermeira examinou Amanda e se virou com o rosto ainda mais azedo, ao que parece achando imperdoável a interrupção de seu intervalo para o cigarro. Tornou a pôr o braço de Amanda sobre o estômago e cobriu-a com o cobertor. — O trem fez uma curva. Foi só. — Ao se inclinar para endireitar a colcha, ela viu o cordão no chão, incriminadora prova do complô de Oz para apressar a recuperação da mãe. — Que é isso? — perguntou esticando a mão para a "evidência número um" de seu processo contra o menino. — Só usei para ajudar a mamãe. É uma espécie de... — Oz olhou nervoso para a irmã. — Uma espécie de mágica.
— Isso é tolice. — Gostaria de ficar com o cordão, por favor. — Sua mãe está num estado catatônico — disse a mulher num tom frio, pedante, destinado a produzir absoluto terror em todos os inseguros e vulneráveis; e ela possuía um alvo fácil em Oz. — Há pouca esperança de ela recobrar a consciência. E isto certamente não vai acontecer por obra de um cordão, meu jovem! — Por favor, devolva — dizia Oz, as mãos entrelaçadas, como se estivesse rezando. — Já disse... — A enfermeira foi interrompida por um tapa no ombro. Quando se virou, Lou estava parada na sua frente. A menina parecia ter crescido alguns centímetros nos últimos segundos. Ao menos era o que sugeria a inclinação da cabeça, do pescoço, dos ombros. — Devolva! — Não vou receber ordens de uma criança! — A cara da enfermeira ficara vermelha ante aquela afronta. Rápida como um chicote, Lou agarrou o cordão, mas a enfermeira, surpreendentemente forte, conseguiu recuperá-lo e colocá-lo no bolso. — Isto não vai ajudar a mãe de vocês — ela explodiu. A cada respiração, exalava um pouco do cheiro dos Lucky Strikes. — Agora, por favor, sentem-se e calem a boca! Oz olhou para a mãe, a agonia despontando em seu rosto por ter perdido o precioso cordão por causa de uma simples curva nos trilhos. Lou e Oz instalaram-se perto da janela e enfrentaram o rolar das próximas milhas contemplando silenciosamente a morte do sol. Quando Oz começou a ficar inquieto, Lou perguntou qual era o problema. — Não me sinto bem em deixar o papai sozinho lá atrás. — Oh, ele não está sozinho. — Mas estava sozinho naquela caixa. E agora está ficando escuro. Ele pode ficar com medo. Isso não é certo, Lou. — Ele não está naquela caixa, está com Deus. Agora estão conversando lá em cima e nos vendo aqui embaixo. Oz ergueu os olhos para o céu. Sua mão ergueu-se para acenar, mas ele ficou meio inseguro. — Pode dar adeus, Oz. Ele está lá em cima. — Jura de verdade? Pela sua mãe morta? — Juro por tudo. Ande logo, dê adeus. Oz obedeceu e abriu um largo sorriso. — Que foi? — perguntou a irmã. — Não sei, mas foi bom fazer isso. Acha que ele também acenou? — É claro. E Deus também. Você sabe como é o papai, sempre contando histórias. A essa altura, provavelmente os dois já são bons amigos. — Lou também acenou e enquanto seus dedos se sacudiam na frente do vidro frio, ela fingiu, por um instante, ter certeza de tudo que acabara de dizer. E a sensação foi muito boa. Desde a morte do pai, o inverno já dera quase na primavera. A cada dia, Lou sentia mais saudades e o grande vazio aumentava cada vez que respirava. Queria que o pai estivesse inteiro e saudável. E ao lado deles. Mas não era possível. O pai realmente se fora, o que lhe dava uma sensação incrivelmente angustiante. Olhou para o céu. Alô, papai. Por favor, nunca se esqueça de mim, pois eu jamais vou me esquecer de você. Apenas murmurou estas palavras, para Oz não ouvir. Ao acabar, achou que ia chorar, mas se controlou. Não podia chorar, não na frente de Oz. Se começasse a chorar, havia uma forte possibilidade de que o irmão a imitasse e não parasse mais de chorar pelo resto da vida. — Como é estar morto, Lou? — perguntou Oz, os olhos arregalados para o escuro da noite.
— Bem, acho que parte de estar morto é não sentir nada — disse ela pouco depois. — Mas sob outro aspecto, é sentir tudo. Tudo de bom. Isto é, se a pessoa levou uma vida decente. Se não..., bem, você sabe. — O inferno? — Oz perguntou, o medo lhe alterando as feições enquanto a terrível palavra era pronunciada. — Você não precisa ficar preocupado com isso. Nem o papai. O olhar de Oz foi avançando, como num movimento mecânico, até Amanda. — E mamãe vai morrer? — Todos nós vamos morrer um dia. — Lou não adoçaria mais a pílula, nem mesmo para Oz, embora o tenha abraçado com força. — Vamos dar um passo de cada vez. Temos muito terreno pela frente. Apertando o irmão, a menina olhou pela janela. Nada era para sempre e ela não sabia disso.
CAPÍTULO CINCO Era de manhã muito cedo, com passarinhos ainda sonolentos mal começando a bater as asas para o novo dia. Uma névoa fria subia do solo quente e o sol era apenas a ponta de uma chama no céu do nascente. Tinham feito uma parada em Richmond, onde a locomotiva fora trocada. Depois o trem avançara pelo Shenandoah Valley, onde a terra era incrivelmente fértil e o clima era o melhor clima temperado, um lugar onde dava para plantar praticamente tudo. Os aclives, no entanto, tinham se tornado muito mais íngremes. Lou dormira pouco, pois compartilhara o leito superior com o irmão, que tinha o sono agitado, mesmo nas situações mais favoráveis. Num trem sacolejando para um mundo novo e assustador, o irmãozinho dormira como um gato selvagem. As pernas e os braços de Lou tinham ficado roxos por causa do golpear incessante, apesar da força com que o tentara imobilizar. As orelhas doíam por causa dos trágicos gritos, apesar de seu empenho em sussurrar palavras de conforto. Lou finalmente achara melhor descer do beliche, pisar no chão frio com os pés descalços, tropeçar no escuro até a janela, puxar as cortinas e ser recompensada pela primeira montanha da Virginia que aparecia cara a cara. Um dia Jack Cardinal dissera à filha que achava que havia de fato dois grupos de Montes Apalaches. O primeiro, formado pelo recuo dos mares e pela contração da Terra milhões de anos atrás, atingira altitudes que rivalizavam com as atuais Montanhas Rochosas. Mais tarde os cumes, sofrendo os efeitos da erosão e a força de correntes de água, teriam se transformado em planícies salpicadas de morrotes. Então, o mundo de novo se alterara, explicara Jack à filha Lou, e as rochas tinham se erguido mais uma vez, embora não atingindo as mesmas alturas de antes. Fora nesse momento que haviam se formado os atuais Montes Apalaches, que permaneceriam como ameaçadoras garras de rocha separando partes da Virginia da Virginia Ocidental e estendendo-se do Canadá até o Alabama, no sul. Os Apalaches tinham impedido uma precoce expansão para o Oeste, ensinara Jack à sempre curiosa Lou, e mantido a unificação das colônias americanas pelo tempo necessário para que elas conquistassem a independência de um monarca inglês. Mais tarde, os recursos naturais da cadeia de montanhas haviam estimulado o surgimento de uma das maiores regiões manufatureiras que o mundo já conhecera. Apesar de tudo isso, acrescentava o pai com um sorriso resignado, o homem nunca atribuíra às montanhas muita importância no nascimento de seus negócios. Lou sabia que Jack Cardinal, adorando as montanhas da Virginia, tinha o mais profundo respeito pelas grandes escarpas de rocha. Comentara frequentemente com a filha que havia alguma coisa mágica no relevo grandioso daquelas áreas, algo que abrigava forças que não podiam ser logicamente explicadas. Lou frequentemente se perguntava como simples misturas de pedra e barro, por mais altas que fossem, conseguiam impressionar o pai daquela maneira. Agora, pela primeira vez, teve a percepção de como isso acontecia, pois jamais experimentara nada que pudesse se comparar. As florações escarpadas de rochas e as encostas cinza-azuladas que Lou inicialmente vira lembravam agora apenas pequenos brotos; por trás dessas "crianças", surgiam os altos contornos da cadeia-mãe, as verdadeiras montanhas. Nem a terra nem o céu pareciam capazes de limitá-las. Eram tão grandiosas e vastas que não pareciam naturais, embora tivessem nascido diretamente da crosta do planeta. E era lá que morava uma mulher de quem Lou herdara o nome, mas a quem nunca chegara a conhecer. Havia tanto consolo quanto alarme nesse pensamento. Por um instante de pânico, Lou se sentiu como se aquele trem cheio de rangidos e estalos tivesse entrado em outro sistema solar. Mas,
de repente, Oz estava a seu lado, e embora ele não costumasse inspirar confiança nos outros, Lou sentiu-se tranquila com sua pequena presença. — Acho que estamos chegando — disse ela, esfregando o ombro do irmão, procurando aliviar a tensão de outra rodada de pesadelos. Ela e a mãe tinham se tornado peritas nisso. Oz, dizia Amanda, era o pior caso de terrores noturnos que já se vira. Mas embora não houvesse como ignorar o fato, não se tratava, segundo ela, de algo exatamente terrível. O que se podia fazer era estar sempre ao lado do menino, tentando lidar da melhor maneira possível com eventuais sequelas físicas e mentais. Isto podia ser encarado como um texto sagrado para uso pessoal de Lou: Não terás maior dever que o de tomar conta de teu irmão, Oz. Ela pretendia, sem a menor dúvida, honrar este mandamento. — Onde estamos? — disse o menino prestando atenção à paisagem. — Onde vamos ficar? — Em algum lugar por ali. — Ela apontou pela janela. — O trem vai passar na porta da casa? — Não. — A pergunta fizera Lou sorrir. — Alguém vai estar nos esperando na estação. Quando o trem mergulhou no túnel escavado na encosta de um dos montes, eles foram atirados numa escuridão ainda maior. Momentos depois, no entanto, saíram do outro lado e começaram a subir. E como! O aclive fazia Lou e Oz espreitarem ansiosamente pela janela. Havia uma ponte na frente. O trem diminuiu a marcha e avançou cuidadosamente para a cabeceira, como um pé testando a água fria. Quando a ponte começou, Lou e Oz baixaram os olhos, mas a luz era pouca e não dava para ver o fundo. Era como se estivessem suspensos no céu, sendo levados por um pássaro de ferro que pesava muitas toneladas. De repente, o trem voltara a pisar em terra firme e a subida começava de novo. Quando a composição ganhou velocidade, Oz deu uma respirada funda, interrompida por um bocejo — talvez, pensou Lou, para reprimir a ansiedade. — Vou gostar daqui — proclamou Oz balançando o ursinho contra a janela. — Olhe lá fora! — disse ele para o animal de pelúcia, que, pelo que Lou sabia, jamais recebera um nome. De repente, o polegar de Oz começou nervosamente a sondar as entranhas da boca. Claro, ele andava realmente empenhado em parar de chupar o dedo, mas acontecera tanta coisa que estava ficando meio difícil. — Tudo vai entrar nos eixos, não é, Lou? — murmurou. Lou empoleirou no colo o irmão caçula, o queixo fazendo cócegas em sua nuca até ele começar a se contorcer. — Vamos ficar muito bem. — E Lou, de alguma forma, se obrigou a acreditar que assim seria. CAPÍTULO SEIS A estação ferroviária de Rainwater Ridge não era mais que um venerável galpão com telhado de meia-água e paredes de pinho. Havia uma janela com teias de aranha e postigos quebrados, além dos batentes de uma porta, mesmo que não houvesse nenhuma porta para encher o espaço. Uma estreita plataforma separava este amontoado de pregos e tábuas da via férrea e o vento chegava terrivelmente encanado, depois de abrir caminho à força pelas fendas nas rochas e nas matas; os rostos das poucas pessoas circulando entre as pequenas árvores na frente da estação evidenciava a força áspera de seu sopro. Lou e Oz viram a mãe ser embarcada numa velha ambulância. Ao subir com ela no veículo, a
enfermeira fez cara feia para os garotos, sem dúvida ainda amargurada pela confrontação do dia anterior. Quando as portas da ambulância se fecharam, Lou tirou do bolso do casaco o cordão com a pedra de quartzo e passou-o a Oz. — Entrei devagarinho em sua cabine antes dela acordar. Ela não havia tirado o cordão do bolso. Oz sorriu, guardou a preciosa peça e ficou na ponta dos pés para dar um beijo no rosto da irmã. Os dois continuaram parados ao lado da bagagem, pacientemente esperando Louisa Mae Cardinal. Tinham as cabeças um tanto vermelhas, pois cada fio de cabelo fora zelosamente escovado — Lou ficara um bom tempo tratando de Oz. Também usavam suas melhores roupas, embora elas mal conseguissem ocultar a batida dos corações. Fazia um minuto que estavam na plataforma quando sentiram alguém se aproximar por trás. Era um rapaz negro e, em harmonia com a geografia da região, de físico muito sólido. Tinha boa altura, ombros largos, um peito que parecia metálico e braços que pareciam grandes pernis. A cintura não era fina, mas não chegava a ser gorda, e as pernas pareciam compridas. Uma delas era estranhamente saliente no ponto onde a barriga da perna se juntava ao joelho. O tom da pele, lembrando ferrugem escura, era agradável aos olhos. Estava olhando para os pés, o que inevitavelmente atraiu o olhar de Lou para o mesmo lugar. As velhas botas de trabalho eram muito grandes; um recém-nascido poderia dormir dentro delas e ainda sobraria espaço, reparou a menina. O macacão que usava era velho como as botas, mas estava limpo ou pelo menos tão limpo quanto o pó e o vento deixariam alguma coisa ficar. Lou estendeu a mão, mas o homem não a segurou. Em vez disso, com impressionante agilidade, pegou toda a bagagem deles e acenou com a cabeça para a estrada. Lou interpretou o gesto como significando "alô, vamos" e "talvez mais tarde eu diga o meu nome", tudo fazendo parte de um procedimento eficiente. A perna saliente se revelou sem movimento; ele mancava. Lou trocou um olhar com Oz e começou a seguir o homem. Oz agarrou se ao urso e a mão de Lou. O menino, sem dúvida, teria gostado de levar também o trem com eles, para o caso de alguma rápida escapada se mostrar necessária. O Hudson de quatro portas e carroceria comprida tinha uma cor de figo cristalizado. Um carro velho, mas limpo por dentro. O radiador alto, muito visível, lembrava uma lápide e faltavam os dois para-lamas dianteiros, assim como o vidro da janela de trás. Depois que Lou e Oz sentaram-se no banco traseiro, o homem assumiu o volante e arrancou. Manejava com muita habilidade a comprida alavanca de câmbio, jamais deixando arranhar alguma marcha. Ante o estado deplorável da estação ferroviária, Lou não esperava encontrar muita coisa civilizada por ali. Contudo, após rodarem vinte minutos, chegaram a uma cidadezinha de bom tamanho, ainda que a área ocupada por todo o conjunto de prédios não fosse maior que uma quadra da periferia de Nova York. Uma placa anunciava que estavam entrando no município de Dickens, na Virginia. A rua principal tinha duas pistas e era asfaltada. Sólidas estruturas de tijolo ou madeira se alinhavam atrás de ambas as calçadas. Havia um prédio de cinco andares, que uma placa anunciava ser um hotel de preço razoável e onde existiam quartos vagos. Havia muitos veículos na rua, a maioria deles bojudos sedas Ford e Chrysler, além de caminhões pesados de várias marcas. Todos cheios de lama. Todos estacionados obliquamente na frente dos prédios. Os prédios eram lojas, restaurantes e um armazém com uma grande fachada, em cujo interior se viam pilhas de caixas com açúcar Dominó, guardanapos Quick, torradas Post e aveia Quaker.
Havia uma agência de automóveis com carros brilhando atrás de um vidro. Ao lado, num posto de gasolina da Esso, havia duas bombas fazendo bolhas nas redomas de vidro e um homem com uniforme e um enorme sorriso enchendo o tanque de um seda La Salle, meio amassado na carroceria. Atrás dele, um empoeirado Nash de duas portas esperava sua vez. Balançando na frente de uma lanchonete, havia uma grande chapinha da Coca-Cola, enquanto o muro de uma loja de ferragens exibia uma propaganda das pilhas Eveready. Feitos de eucalipto, os postes de eletricidade e telefone corriam por uma das calçadas e soltavam sinuosos cabos pretos para cada um dos prédios. Uma loja anunciava a venda de órgãos e pianos à vista, mas a preços baixos. Numa esquina havia um cineteatro, noutra uma lavanderia. Como grandes fósforos a serem acesos, frágeis lampiões estendiam-se por ambos os lados da rua. As calçadas estavam cheias de gente. Passavam desde mulheres com bons vestidos e penteados da moda complementados por pequenos chapéus, até homens curvados, sujos, gente que provavelmente trabalhava nas minas de carvão sobre as quais Lou já tinha lido. No trecho final da rua, o último prédio de importância era também o mais imponente. Tinha paredes de tijolo vermelho e um elegante pórtico, de recorte triangular, da altura de dois andares. A sustentá-lo, havia um par de colunas gregas, jônicas, e o telhado era muito íngreme, como o de um campanário, com placas de estanho pintadas de preto e, no alto, a torre de tijolos com o relógio. A bandeira americana e a da Virginia destacavam-se na brisa ligeira. O elegante tijolos-vermelhos, no entanto, assentava-se na feia fundação de um concreto meio irregular. A curiosa combinação impressionava Lou. Era como uma calça nova sobre botas imundas. No alto das colunas, palavras gravadas diziam apenas: "Fórum". E nesse momento eles deixaram para trás os limites extremos de Dickens. Lou recostou-se com ar confuso. Os livros do pai estavam cheios de histórias das montanhas selvagens, da vida primitiva de lá, de caçadores se agachando em volta do fogo dos troncos de nogueira, cozinhando suas presas e tomando um café amargo; histórias de sitiantes acordando antes do nascer do sol e trabalhando até a exaustão; histórias de mineiros se enfiando na terra, enchendo os pulmões do pó preto que acabaria por matá-los; histórias de lenhadores abrindo florestas virgens com os golpes calculados do machado e da serra. Percepções rápidas, um perfeito conhecimento da terra e uma forte dose de experiência eram essenciais nesse mundo. O perigo rondava no barro dos vales e nas encostas íngremes, enquanto as rochas se impunham, grandiosas, aos homens e aos animais, definindo asperamente os limites de suas ambições, de suas vidas. Um lugar como Dickens, com ruas pavimentadas, hotel, anúncios da Coca-Cola e pianos vendidos à vista, mas a preço baixo, não tinha o direito de estar ali. E então Lou percebeu que também a época onde se passavam os livros do pai já ficara uns vinte anos para trás. Ela suspirou. Tudo, mesmo as montanhas e sua gente, ao que parece, mudava. Lou podia apostar que provavelmente a bisavó já estava morando num bairro bastante comum com vizinhos igualmente comuns. Talvez tivesse um gato e fosse todo sábado se pentear num salão de cabeleireiro com cheiro de produtos químicos e fumaça de cigarro. Lou e Oz tomariam soda limonada na varanda da frente, iriam à igreja aos domingos e dariam adeus para as pessoas que passassem nos carros. Ou seja, a vida não seria assim tão diferente da que tinham levado em Nova York e, embora não houvesse absolutamente nada de errado nisso, não seria a densa, a excitante existência selvagem que Lou imaginara. Não era a vida que o pai experimentara e sobre a qual havia escrito. Lou, sem dúvida, ficou bastante decepcionada. Depois que o carro cruzou novos quilômetros de árvores, encostas elevadas e vales profundos, ela viu outra placa. O novo lugar se chamava Tremont. Provavelmente era lá, pensou. Tremont mal atingia um terço do tamanho de Dickens. Havia cerca de quinze carros estacionados na
frente de lojas semelhantes às da cidade maior, mas não existiam prédios altos, nem fórum, e a rua asfaltada se transformara numa pista de terra batida e cascalho. Lou também viu algumas pessoas andando a cavalo, mas logo Tremont ficaria para trás. A estrada continuou a subir. A bisavó, Lou conjeturou, devia morar nos arredores de Tremont. O próximo lugarejo que atravessaram não tinha placas indicativas. Até porque o escasso número de pessoas e de casas não parecia justificar um nome. A estrada, agora, era apenas de terra e o Hudson sacolejava bastante para vencer aquele humilde caminho. Lou viu uma pequena agência de correio e, ao lado da agência, uma fachada de tábuas tortas com uma escadinha meio podre e sem nenhuma tabuleta. Por fim, surgiu um mercado de bom tamanho com o nome "McKenzie's" no muro; caixotes com açúcar, farinha, pimentões e sal formavam grandes pilhas do lado de fora. Numa janela do McKenzie's havia macacões azuis, arreios e um lampião de querosene, mas praticamente não havia mais nada naquele lugar sem nome ao longo da estradinha precária. Enquanto rodavam pela poeira, passaram por homens calados, de olhos fundos, os rostos parcialmente cobertos por barbas ásperas. Usavam macacões encardidos, chapéus de aba caída e sapatos muito velhos. Iam a pé, a cavalo ou no lombo de um burro. Uma mulher com olhar apático, rosto abatido e braços ossudos, vestindo uma blusa de brim barato e uma saia de lã de fio caseiro, presa na cintura com alfinetes de fralda, conduzia uma pequena carroça puxada por uma parelha de mulas. Dentro da carroça, uma pilha de crianças se empoleirava em sacos de aniagem maiores que elas. Ao lado da estrada, um comprido trem cargueiro havia parado sob uma torre de água. Ele bebia depressa e, a cada gole ansioso, mais fumaça ia sendo expelida pela garganta da chaminé. Preso à locomotiva havia um pequeno vagão, com uma montanha de toras de madeira; atrás dele, os carros de carvão se sucediam como uma coluna de obedientes formigas. Atravessaram uma grande ponte. Uma placa de metal dizia que era a passagem sobre o rio McCloud, fluindo dez metros abaixo. com o reflexo do sol nascente, a água — uma língua quilométrica que fazia uma curva — parecia rosada. Os picos das montanhas estavam vagamente azuis e os rolos de neblina na base da encostas eram como um véu transparente. Com nenhuma outra cidade à vista, Lou achou que estava na hora de travar conhecimento com o cavalheiro sentado no banco da frente. — Qual é o seu nome? — perguntou. Havia conhecido muitos negros, geralmente escritores, poetas, músicos e gente que trabalhava no teatro, todos amigos de seus pais. Mas não só esses. Durante as excursões que fizera com a mãe pela cidade, conhecera os que tiravam lixo, conduziam táxis, carregavam malas, seguiam atrás dos filhos dos outros, varriam as ruas, limpavam janelas, engraxavam sapatos, faziam comida, lavavam a roupa e recebiam, com gestos amistosos, os insultos e as gorjetas da clientela branca. O sujeito ao volante era diferente, pois sem dúvida não gostava de falar. Em Nova York, Lou fizera amizade com um simpático senhor que fazia um trabalho modesto no Yankee Stadium, onde às vezes ela ia com o pai assistir a algum jogo. O tal senhor, só um pouco mais escuro que os amendoins que vendia, dizia que os pretos gostavam de encher os ouvidos dos outros, exceto no Sabbath, quando deixavam Deus e as mulheres terem sua chance. O sujeito grandalhão continuou simplesmente a dirigir; seu olhar nem sequer batera no retrovisor quando Lou falou, mas a falta de curiosidade era uma coisa que ela não podia tolerar em ninguém. — Meus pais me deram o nome de Louisa Mae Cardinal, por causa de minha bisavó. Mas me chamam de Lou, só Lou. Meu pai é John Jacob Cardinal. Um escritor muito famoso. Provavelmente você já ouviu
falar dele. O rapaz não emitiu nenhum resmungo, não moveu sequer um dedo. Talvez aquele fragmento da história da família Cardinal não pudesse competir com a fascinação que a estrada parecia exercer sobre ele. — Papai morreu, mas nossa mãe não — disse Oz, entrando na espirituosa tentativa de conversa da irmã. Este comentário indelicado provocou um imediato vinco na testa de Lou, mas Oz se virou rapidamente para a janela, mostrando um súbito interesse pela paisagem. Foram atirados um pouco para a frente quando o Hudson deu uma freada brusca. O garoto parado lá fora era um pouco mais velho que Lou, mas aproximadamente da mesma altura. Apesar do emaranhado de ondas e topete, o cabelo ruivo não conseguia cobrir as orelhas cônicas que podiam facilmente ser confundidas com orelhas de abano. Usava camisa sem gola, manchada, e uma calça de brim, também meio suja e tão curta que não escondia sequer os ossos dos tornozelos. Estava descalço, embora não fizesse calor. Carregava um comprido bambu improvisado em vara de pescar e uma lata amassada, que parecia já ter sido pintada de azul. Junto dele havia um cachorro vira-lata com manchas amareladas e pretas, a língua rosada pendendo torta da boca. O garoto passou a vara e a lata pela janela traseira do Hudson; depois, tranquilamente seguido pelo cachorro, subiu no banco da frente como se estivesse em casa. — Oi-olá, Diabo-Não! — disse amigavelmente o garoto para o motorista, que recepcionou o recém-chegado com um levíssimo aceno de cabeça. Lou e Oz se entreolharam intrigados com uma saudação tão estranha. Como um boneco saindo de uma caixa de surpresas, o visitante enfiou a cabeça pelas costas do assento e olhou para os dois. Tinha uma respeitável safra de sardas nas maçãs planas do rosto, um nariz pouco elevado carregando outras sardas e o cabelo parecia ainda mais ruivo fora do sol. Os olhos tinham a cor de ervilhas antes de cozer e, somados ao cabelo, fizeram Lou pensar nos papéis que embrulhavam os presentes de Natal. — To adivinhando, cês dois é gente da dona Louisa, num é? — disse ele num jeito agradavelmente arrastado, o sorriso afetuoso e travesso. — Sou a Lou — disse a menina, abanando devagar a cabeça. — Este é o meu irmão, Oz. — O tom era de cortesia e descontração, nem que fosse apenas para mostrar que não estava nervosa. Ágil como um riso de vendedor, o garoto apertou as mãos deles. Eram dedos fortes, capazes de fornecer muitos e bons exemplos da rudeza da vida rural. Por exemplo, seria impossível dizer se ele tinha unhas ou não por causa da impressionante concentração de sujeira. Lou e Oz não conseguiam tirar os olhos daqueles dedos, e ele deve ter notado isso. — Tive pegando minhoca desde antes do amanhecer — disse. — Vela numa mão, lata na outra. Trabalho sujo, cês sabem. — Fez o comentário com absoluta simplicidade, como se todos estivessem mais que acostumados a se ajoelharem desde antes do nascer do sol para pegar aquelas compridas iscas de pescar. Oz olhou para a própria mão e notou que ocorrera uma transferência de terra fértil diante o cumprimento. Sorriu, pois era como se os dois tivessem acabado de cumprir um ritual de sangue. Tinha um irmão! Bem, isso era uma coisa que podia despertar o entusiasmo de Oz. O jovem de cabelo ruivo deu um sorriso jovial, mostrando que a maioria dos dentes estava onde deviam estar, embora poucos pudessem ser chamados de saudáveis ou brancos. — Meu nome é Jimmy Skinner — ele se apresentou num tom de simplicidade —, mas o
pessoal me chama de Diamante por causa do meu pai, que vive dizendo como minha cabeça é dura. E esse cachorrinho é o Jeb. Ouvindo seu nome, Jeb pôs o focinho peludo sobre as costas do banco e Diamante sacudiu afetuosamente as duas orelhas do animal. Depois se virou para Oz: — É um nome gozado para um cara: Oz! Oz já parecia meio preocupado com o exame de seu irmão de sangue. Será que não ia dar para serem parceiros? — Seu nome verdadeiro é Oscar — disse Lou respondendo por ele. — Como em Oscar Wilde. Oz é apelido, como no Mágico de Oz. com o olhar no teto do Hudson, Diamante pensou no que acabara de ouvir, obviamente dando uma busca na memória. — Num ouvi falar de nenhum Wilde por aqui. — Fez uma pausa, pensando de novo com atenção, as rugas se aprofundando na testa. — E esse mágico, quem que ele é exatamente? — Não conhece o livro? — Lou não podia esconder seu assombro. — O filme? Judy Garland? — Os Munchkins? O Leão Covarde? — acrescentou Oz. — Nunca vi uma fita do cinema por aqui. — Diamante examinou de relance o urso de Oz e a desaprovação saltou no rosto. — Tu já é bem grandinho pra isso, num é, filho? Foi a gota d'água para Oz, que esfregou com tristeza a mão no forro do banco, anulando o pacto solene entre ele e Diamante. Lou se inclinou tanto para o banco da frente que pôde cheirar o hálito do garoto. — Isso não é da sua conta, certo? Um disciplinado Diamante afundou no banco, deixando Jeb lamber preguiçosamente os rastros e os sucos de minhoca em seus dedos. Era como se Lou tivesse cuspido nele usando palavras. A ambulância seguia bem à frente, mas também ia devagar. — Lamento que a mãe de vocês teja mal — disse Diamante, como se passasse o cachimbo da paz. — Vai melhorar — disse Oz, sempre mais ágil que Lou quando o assunto dizia respeito à mãe. Lou olhava pela janela, os braços cruzados no peito. — Diabo-Não — disse Diamante —, me solta na ponte. Se eu pegar alguma coisa boa, levo pró jantar. Diz à dona Louisa, tá? Lou viu quando Diabo-Não apontou o queixo áspero para a frente, aparentemente sinalizando um grande e feliz "tudo bem, Diamante". O garoto despontou de novo sobre as costas do assento. — Ei, aposto que todo mundo vai querer comer um peixe fritado no toicinho! — Tinha um ar esperançoso e as intenções, sem dúvida, eram louváveis; só que por ora Lou não estava muito inclinada a fazer amigos. — É claro que vamos querer, Diamante. E quem sabe depois a gente não encontra uma fita de cinema passando entre as cavalgaduras desta cidade? Lou lamentou de imediato o que disse. Não se tratava apenas do ar de desapontamento no rosto do Diamante, mas de ter acabado de blasfemar contra o lugar onde o pai fora criado. Quando se deu conta, estava olhando para o céu, talvez esperando relâmpagos terríveis ou alguma chuva repentina, como lágrimas caindo. — Vieram de uma cidade grande, hã-hã? — disse Diamante. — Da maior. — Lou arrancou o olhar do céu. — Nova York. — Ha, bem, num precisam fica dizendo isso a todo mundo. — Por que não? — disse Oz, espantado com seu ex-irmão de sangue. — Tá bom aqui, Diabo-Não! Vamos lá, Jeb. Diabo-Não parou o carro. A ponte estava bem na frente deles, embora fosse a coisa mais insignificante que Lou já vira. Uns seis metros com tábuas de madeira empenada e mal encaixada sobre dormentes de estrada de ferro. Eram dormentes de
bitola estreita, pintados de piche. De cada lado, havia um arco de metal enferrujado, sem dúvida para evitar que a pessoa caísse de um metro e meio no que parecia ser um riacho com mais pedras que água. Suicídio por salto de ponte não seria uma opção realista por ali e, a julgar pela água rasa, Lou também não deveria acalentar esperanças de peixe frito com toicinho. De qualquer modo, a refeição não parecia assim tão atraente. Enquanto Diamante tirava seu equipamento da traseira do Hudson, Lou, que estava um pouco chateada com o que tinha dito, ainda que um pouco mais curiosa que chateada, inclinou-se para o lado e cochichou: — Por que o chama de Diabo-Não? Aquele inesperado gesto de atenção trouxe de volta o bom humor de Diamante e o fez sorrir. — Porque é o nome dele — disse num tom neutro. — Ele mora com a dona Louisa. — Por que lhe deram um nome desses? Diamante olhou de relance para o banco da frente, fingiu estar mexendo em alguma coisa no fundo da lata e respondeu em voz baixa: — Quando Diabo-Não era apenas um bebê, o pai dele passou por estas bandas e largou ele de vez na margem da estrada. Aí um sujeito se virou para o pai e disse: "Num vai levá a criança cum você?" E o pai respondeu: "Diabo, não!" Bem, Diabo-Não nunca fez nada de errado na vida. E num é de muita gente que se pode dizer isso. Principalmente quando é gente rica. Diamante pegou a lata de pescaria, pôs a vara de pescar no ombro e caminhou para a ponte assobiando uma modinha. Diabo-Não tocou o Hudson, cuja carroceria chiava e gemia a cada giro das rodas. Diamante acenou e Oz deu adeus com a mão suja, achando que talvez pudesse surgir alguma amizade de longa duração com Jimmy "Diamante" Skinner, pescador de cabelo ruivo da montanha. Lou simplesmente olhava para o banco da frente. Para um homem chamado Diabo-Não. CAPÍTULO SETE Medido de ponta a ponta, o penhasco teria quase uns mil metros de altura. Os Apalaches podiam fazer pálida figura se comparados às altaneiras Rochosas, mas para as crianças que tinham o sobrenome Cardinal eram montanhas tremendamente altas. Após largar Diamante e se afastar da pequena ponte, os noventa e seis cavalos do motor do Hudson começaram a se queixar, e Diabo-Não teve de engrenar uma primeira para continuar. O protesto do carro era compreensível, pois agora a estradinha de chão subia num ângulo de quase quarenta e cinco graus e as voltas que dava ao redor da montanha eram sinuosas como um avanço de cascavel. Medidas por qualquer padrão realista, as duas pistas da estrada não eram mais largas que uma trilha de mão única. Pedras caídas enchiam as margens, como lágrimas sólidas vindas do rosto da montanha. Oz só olhou uma vez para aquele penhasco capaz de chegar ao céu; depois preferiu ignorá-lo. Fora o que Lou, que não estava exatamente preocupada com elevações tão extremas, fizera desde o início. Então, fazendo bruscamente uma curva, apareceu na frente deles um trator cheio de ferrugem, certamente com peças faltando e consertos feitos com arame e pedaços variados de outras porcarias. Era quase grande demais para a estreiteza normal da estrada e a coisa só piorava quando um desajeitado Hudson teria de cruzar com ele. Havia crianças no trator. Elas jogavam e pulavam a cada solavanco do incrível veículo. Como se estivessem numa academia itinerante em excursão pela roça. Um garoto, mais ou menos da idade de Lou, parecia suspenso no ar, embora estivesse seguro com os dez dedos em alguma barra e, graças a Deus, continuasse rindo! As outras crianças, uma menina de
uns dez anos e um garoto da idade de Oz, se agarravam em qualquer coisa que tivessem pela frente, mas as fisionomias pareciam tomadas pelo terror. O homem que pilotava a engenhoca era bem mais assustador que a simples visão de um maquinismo descontrolado surrando crianças levadas como reféns. Anos de suor tinham se grudado de cima a baixo no feltro do chapéu que lhe cobria a cabeça. A barba era extremamente malcuidada e o rosto, bastante queimado, fora marcado com muitas rugas pelo sol inclemente. Parecia um homem baixo, mas o corpo era grosso e musculoso. As roupas que ele e as crianças usavam não passavam de trapos. O trator estava quase em cima do Hudson. Oz tapou os olhos, assustado demais até mesmo para tentar um grito. Lou, no entanto, gritou quando o trator começou a se abater sobre eles. Diabo-Não, com um ar de calma testada, conseguiu tirar o carro da frente do trator e parar para lhe abrir espaço. O Hudson ficou tão na beirada que no mínimo um terço dos pneus deve ter pairado sobre o nada do frio ar da montanha. Pedras e terra escorreram pelo barranco, sendo instantaneamente espalhadas pelo rodopiar do vento. Por um momento, quando teve certeza de que o carro ia cair, Lou agarrou Oz com toda a força, como se isto pudesse fazer alguma diferença. O trator avançou roncando e seu condutor olhou para os três antes de se fixar aos gritos em Diabo-Não: — Estúpido pedaço de... O resto, felizmente, foi coberto pelo guincho do veículo e os risos e apupos do menino que ia suspenso no ar. Lou olhou para Diabo-Não, que nem estremecia com o que estava acontecendo, embora ela só pensasse no desenlace fatal que uma colisão naquele lugar iria provocar. Mas como carga de granizo em pleno verão, o circo rolante acabou de passar e Diabo-Não seguiu em frente. Quando conseguiu aplacar os nervos e olhar para baixo, Lou viu caminhões na distância. Alguns carregados de carvão, avançando por uma estrada; outros vazios, rumando como abelhas em sentido contrário, prontos para sorver outra carga. Por todo lado as encostas das montanhas tinham sido escavadas, expondo novas rochas, dando fim ao solo arável e ao revestimento de árvores. Lou contemplou carrinhos de carvão emergirem dessas chagas nas montanhas, como gotas de sangue coagulado. O carvão era despejado na caçamba dos caminhões. — Eu me chamo Eugene. Lou e Oz arregalaram ao mesmo tempo os olhos para o banco da frente. O homem os observava pelo retrovisor. — Eu me chamo Eugene — repetiu ele. — Diamante às vezes esquece. Mas é um bom garoto. Meu amigo. — Ei, Eugene — disse Oz. E então Lou também deu seu alô. — Não vejo muita gente e as palavras não me ocorrem com facilidade. Desculpem. — Tudo bem, Eugene — disse Lou. — É difícil travar conhecimento com estranhos. — Eu e a Sra. Louisa estamos realmente felizes por terem vindo. Ela é uma boa mulher. Pegou-me quando eu vivia na rua. Têm sorte de serem parentes dela. — Isso é bom — disse Lou. — Não temos tido muita sorte ultimamente. — Ela fala muito sobre toda a família. Incluindo o pai e a mãe de vocês. com a mamãe, ela está preocupada. Mas a Sra. Louisa cura as doenças. Oz olhou para Lou com renovada esperança, mas ela só sacudiu a cabeça. Novos quilômetros rolaram e de repente Eugene entrou num caminho que não passava de dois sulcos de barro com uma tira de mato seco no meio. Nas margens, mato alto. Obviamente estavam chegando perto de seu destino e Oz e Lou trocaram um olhar. Ansiedade, nervosismo, pânico
e esperança competiam por espaço nas pequenas expressões de seus rostos. A estradinha galgou uma elevação do terreno, guinou para a direita e foi então que o panorama se abriu num grande vale de franca beleza. Eram pastos verdes e vastas florestas, onde certamente haveria cada tipo de árvore nativo da região. Ao lado dos pastos, um trecho de terreno fora rodeado por uma cerca de madeira que o tempo acinzentara e por onde corriam os ramos agrestes de uma parreira rosada. Atrás das estacas da cerca, um grande celeiro de madeira com dois pavimentos era encimado por um telhado normando que parecia apoiado em grandes calhas para a água da chuva, tudo coberto por telhas de cedro feitas a plaina e enxó. O barracão tinha duas grandes portas duplas à direita e à esquerda e, no alto, aberturas de ventilação. De uma viga na frente da construção, pendia um forcado para feno. Três vacas comiam a ferragem de um cercado, enquanto um cavalo ruão pastava sozinho num pequeno estábulo de cerca de pinho trançada. Lou contou meia dúzia de ovelhas tosquiadas num curralzinho e, atrás dele, em outro cercado, enormes porcos, se divertindo como bebês-gigantes, rolavam num monte de lama. Ao lado do celeiro, uma parelha de mulas fora atrelada a uma grande carroça e o sol se refletia no revestimento de metal das rodas de madeira. Perto do celeiro, ficava uma casa de fazenda de modestas proporções. Existiam outras benfeitorias, grandes e pequenas, espalhadas aqui e ali, a maioria feita de tábuas. As toras do cercado que ficava sob um semicírculo de bordos pareciam ter sido enfiadas diretamente na terra e calafetadas com barro. Terminando em declives muito acentuados, os prados avançavam a partir das benfeitorias centrais como raios de uma roda. E atrás de tudo, erguiam-se bem altos os Apalaches, reduzindo uma propriedade de bom tamanho como aquela à simples miniatura para criança brincar. Finalmente Lou estava lá, o lugar sobre o qual o pai escrevera durante boa parte da vida, mas para onde nunca voltara. Ela respirou depressa uma meia dúzia de vezes e ficou muito reta no banco enquanto o carro se aproximava da casa. Era ali que Louisa Mae Cardinal, a mulher que ajudara a criar seu pai, os esperava. CAPÍTULO OITO Dentro da casa, a enfermeira colocava a mulher a par da condição de Amanda e dava algumas outras informações. A mulher ouvia atentamente e fazia as perguntas certas. — E podemos também esclarecer o problema de minhas exigências — disse finalmente a enfermeira. — Tenho alergia a animais e a pólen. Procure tomar providências para que a existência deles aqui seja reduzida a um mínimo. E sob nenhuma circunstância os animais deverão ter permissão de entrar em casa. Também obedeço a certas necessidades dietéticas especiais. vou lhe fornecer uma lista. Exijo também liberdade absoluta para supervisionar as crianças. Sei que isto sai da área de competência de minhas obrigações formais, mas sem a menor dúvida os dois precisam de disciplina, e pretendo fornecê-la. A menina, em particular, é uma verdadeira peça rara. Tenho certeza de que a senhora é capaz de apreciar minha franqueza. Agora pode me levar ao meu quarto. — Eu apreciaria que fosse embora — disse Louisa Mae Cardinal à enfermeira. — Para dizer a verdade, não temos lugar para a senhora. A enfermeira, que já era alta, ficou o mais empinada que pôde, mas ainda assim continuou mais baixa que Louisa Mae Cardinal. — Como disse? — perguntou com indignação.
— Peça ao Sam da ambulância pra levá-la de volta. Tem um trem vindo do norte. Enquanto ele não vem, o terreno da estação é ótimo para passear. — Fui contratada para vir até aqui e tomar conta de minha paciente. — Posso cuidar muito bem de Amanda. — Não está qualificada para fazer isso. — Fale com o Sam e o Hank. Eles precisam ir embora, querida. — E eu preciso falar com alguém sobre o que está acontecendo. — O rosto da enfermeira estava muito vermelho. Como se ela estivesse à beira de se tornar uma paciente. — O telefone mais próximo fica lá embaixo, em Tremont. Se quiser, pode falar com o presidente dos Estados Unidos, mas a casa é minha. — Louisa Mae agarrou o cotovelo da mulher com uma força que fez os olhos da enfermeira se agitarem. E não vamos incomodar Amanda com isto. — Guiou a mulher para o vestíbulo, fechando a porta da sala atrás delas. — Espera mesmo que eu acredite que não tem telefone? — perguntou a enfermeira. — Nem essa coisa de eletricidade, que também não me faz falta. Obrigada de novo e faça uma boa viagem de volta. Colocou três notas amassadas de um dólar na mão da mulher. — Gostaria de poder dar mais, querida, mas foi tudo que me sobrou da venda dos ovos. A enfermeira ficou um instante de olhos arregalados para o dinheiro e disse: — vou ficar até me certificar de que minha paciente... Louisa Mae agarrou-a de novo pelo cotovelo e conduziu-a até a porta da frente. — A maioria das pessoas daqui tem regras contra os invasores. Avisam que o primeiro tiro pode passar muito perto da cabeça e é bom prestar atenção no que dizem, pois o segundo pode atingir a pessoa. Agora, escute: estou velha demais pra perder tempo dando tiro de advertência e nunca deixei minha espingarda sem pólvora. E a gente não vai ter uma segunda oportunidade de uma conversa franca. Quando o Hudson estacionou, a ambulância ainda estava parada na frente da casa, que tinha um varandão largo e fresco, por onde as sombras se alongavam à medida que o sol ia subindo. Lou e Oz saltaram do carro e encararam o novo lar. Parecia maior visto de longe. Lou reparou nas pedras meio esfareladas onde pousavam algumas quinas empenadas da construção. Também eram de pedra os degraus que levavam do terreno à varanda. A coisa que tapava o telhado parecia cartolina pintada de piche e uma cerca de madeira branca, arqueada em certos pontos, corria ao longo do varandão. Os tijolos da chaminé tinham sido feitos à mão, mas parte da argamassa que os unia se dissolvera. Nas paredes externas, nos pontos atingidos pela umidade, havia um bom número de bolhas descascando e as tábuas tinham começado a empenar e perder o prumo. Elas também estavam precisando de uma pintura. Lou aceitou a coisa como de fato era: uma casa antiga, que tinha atravessado várias reencarnações e se situava numa confluência de implacáveis elementos naturais. O gramado da frente, no entanto, parecia bem aparado; as janelas, a escada e o chão da varanda estavam limpos e ela observou as primeiras flores da primavera em jarros de vidro e vasos de madeira, todos arrumados no parapeito ou nas jardineiras das janelas. Trepadeiras floridas subiam pelas colunas da varanda e entre duas dessas colunas havia uma tela com botões de maracujá. Uma áspera trepadeira de madressilvas corria contra uma parede. Também havia, na varanda, uma bancada de carpinteiro, de madeira sem verniz, com ferramentas espalhadas no tampo e, na frente dela, uma cadeira de nogueira com assento de vime. Galinhas pardas começaram a cacarejar em volta dos pés dos dois, mas logo um casal malintencionado de gansos se aproximou e as galinhas, em pânico, foram cantar em outra freguesia.
Então um galo de pata amarela avançou pela área, afugentou o casal de gansos, esticou a cabeça para Lou e Oz, cantou uma vez e voltou para o lugar de onde tinha vindo. De um curral, uma égua relinchava seu cumprimento, enquanto a parelha de mulas continuava imóvel, olhando para o vazio. Tinham um pêlo muito preto e as orelhas pareciam um tanto desproporcionais aos focinhos. Oz deu um passo à frente para olhar melhor, mas recuou quando uma das mulas fez um barulho que Oz nunca ouvira antes, e que parecia claramente ameaçador. A atenção de Lou e de Oz se transferiu para a porta da frente sendo aberta com muito mais força que o necessário. A enfermeira da mãe estava deixando a casa. Passou por eles de cabeça empinada, os braços e pernas compridos apontando para a frente e atirando salvas de uma fúria silenciosa. — Nunca, em toda a minha vida! — gemeu ela para os Apalaches. Sem outra palavra ou careta, sem dar um cruzado nem chutar a perna de ninguém, subiu na ambulância, fechou as portas e a brigada de voluntários bateu em tímida retirada. As portas tinham produzido dois ruídos modestos quando metal bateu contra metal. Em total perplexidade, Lou e Oz se viraram na direção da casa em busca de respostas e se depararam com a mulher. Louisa Mae Cardinal estava parada no umbral da porta. Era muito alta e, embora fosse também muito magra, parecia forte o bastante para estrangular um urso e suficientemente corajosa para fazê-lo. O rosto tinha traços ásperos, pois as rugas o haviam marcado com a força de uma gravação em madeira. Mesmo que estivesse se aproximando dos oitenta anos, as maçãs do rosto continuavam coradas e no lugar. O queixo também era forte, embora a boca já caísse um pouco. O cabelo prateado e comprido estava amarrado com um simples cordão na nuca. Lou achou incrível o fato de ela não estar usando um vestido, mas calças de brim muito largas, que o desbotamento tornava quase brancas, e uma camisa cor de anil com vários remendos. Sapatos velhos e pesadões lhe cobriam os pés. Embora lembrasse a majestade de uma estátua, o incrível par de olhos castanhos nada perdia do que acontecia em volta. Lou avançou corajosamente enquanto Oz se esforçava para desaparecer atrás da irmã. — Eu me chamo Louisa Mae Cardinal. Este é meu irmão, Oscar. — Havia um tremor na voz de Lou; ela, no entanto, se manteve firme, a poucos centímetros de sua xará. A proximidade revelou um fato notável: eram muito parecidas, como se fossem gêmeas, separadas meramente por três gerações. Louisa não disse nada, o olhar seguindo a ambulância. Lou reparou no que se passava. — Ela não devia ficar e ajudar a cuidar de nossa mãe? perguntou. — Mamãe tem suas necessidades e temos de fazer o possível para que seja atendida. A bisavó concentrou o olhar no Hudson. — Eugene — disse Louisa Mae num sotaque que parecia inegavelmente sulista, apesar de um certo toque de nasalidade —, traga a bagagem, querido. — Só então ela se dignou a olhar para Lou, e alguma coisa atrás daqueles olhos duros deu à menina a sensação de que era bem-vinda. — Vamos cuidar muito bem de sua mãe. Louisa Mae se virou e entrou em casa. Eugene foi atrás com a bagagem. Oz estava inteiramente concentrado no urso e no polegar. Seus grandes olhos azuis piscavam rapidamente, indicação certa de que os nervos disparavam num ritmo febril. Na verdade, Oz tinha vontade de voltar correndo, naquele minuto mesmo, para Nova York. E podia muito bem ter feito isso se ao menos soubesse em que direção Nova York ficava.
CAPÍTULO NOVE O quarto reservado a Lou era espartano e era também o único cômodo que havia em cima do andar térreo. O acesso se dava por uma escada nos fundos. Havia uma grande janela com vista para o gramado. A madeira empenada das paredes e o teto baixo estavam cobertos por páginas de revistas e jornais velhos, em grande parte já amareladas. Tinham sido coladas como papel de parede e, onde a cola cedera, havia pontas penduradas. A mobília era uma cama de solteiro com estrado de cordas e cabeceira de nogueira e um armário de pinho meio riscado. Havia também uma pequena escrivaninha de madeira crua ao lado da janela, sobre a qual caía a luz da manhã. A peça nada tinha de especial, mas atraiu a atenção de Lou como se tivesse sido talhada em ouro e adornada por barras de diamantes. As iniciais do pai continuavam muito nítidas: "JJC". John Jacob Cardinal. Tinha de ser a escrivaninha onde ele começara a escrever. Lou imaginava o pai como um garotinho, feições sérias, mãos trabalhando com precisão ao gravar aquelas iniciais na madeira e ao inaugurar a carreira dele como contador de histórias. Ao tocar o sulco das letras e ter a sensação de encostar nas costas da mão do pai, Lou pressentiu que não fora por acaso que a bisavó a colocara naquele quarto. O pai fora reservado a respeito dos tempos em que vivera ali. Sempre, no entanto, que Lou perguntava sobre a mulher de quem ela herdara o nome, Jack Cardinal dava uma resposta esfuziante: "Nunca houve pessoa melhor sobre a terra." Nessas ocasiões, ele contava alguma coisa sobre sua vida na montanha, mas só alguma coisa. Sem dúvida, deixava os detalhes mais íntimos para os livros, livros que, com exceção de um, Lou teria de esperar até a idade adulta para ler. Assim ela foi deixada com muitas perguntas intrigantes na cabeça. Lou remexeu na mala e pegou um pequeno porta-retrato de madeira com uma foto. O sorriso da mãe parecia muito brilhante e, embora a fotografia fosse em preto e branco, Lou sabia que a tonalidade âmbar dos olhos da mãe era quase hipnótica. Lou sempre adorara aquela cor, ansiando, às vezes, que o azul de seus próprios olhos sumisse uma bela manhã para dar lugar àquela colisão de marrom com dourado. A fotografia havia sido tirada no aniversário da mãe. Uma Lou ainda muito pequena estava sentada na frente de Amanda, que tinha os dois braços em volta da filha. Na foto, os sorrisos das duas ficaram para sempre congelados, mas Lou frequentemente lamentava não se lembrar de mais nada daquele dia. Oz entrou e Lou tornou a guardar a fotografia na mala. Como de hábito, o irmão parecia preocupado. — Posso ficar aqui? — perguntou ele. — Qual é o problema com seu quarto? — Fica junto do dela. — Dela quem? Louisa? — Oz respondeu muito solene que sim, como se estivesse prestando depoimento num tribunal. Lou continuou: — Bem, o que há de errado com isso? — Tenho medo dela — disse Oz. — Tenho mesmo, Lou. — Louisa nos deixou vir morar aqui. — E estou muito contente por terem vindo. — Saindo do umbral da porta, Louisa deu um passo à frente. — Desculpe, não falei direito com vocês. Estava pensando na mãe dos dois. — Olhou para Lou. — E nas necessidades dela. — Está tudo bem — disse Oz, passando rapidamente para o lado da irmã. — Acho que a senhora deixou minha irmã um pouco apavorada, mas agora ela já melhorou. Lou examinou as feições da mulher, como se quisesse descobrir alguma coisa do pai. Concluiu que não havia nada.
— Não tínhamos mais ninguém — disse Lou. — Sempre vão ter a mim, todos vocês — respondeu Louisa Mae. Ela chegou mais perto e, de repente, Lou percebeu certos traços de Jack Cardinal. Também compreendeu por que a boca da mulher era caída; só havia alguns dentes lá dentro, todos amarelos ou pretos. — Desculpem por eu não ter ido ao enterro. Notícias chegam devagar aqui e às vezes nem chegam. — Baixou um instante os olhos, como se atraída por algo que Lou não pudesse ver. — Você é o Oz. E você a Lou. — Louisa apontou para os dois enquanto dizia os nomes. — Bem — comentou Lou —, acho que as pessoas que combinaram nossa vinda fizeram as apresentações. — Já os conhecia faz tempo, e me chamem só de Louisa. Todos os dias temos tarefas a fazer. A gente faz ou cria praticamente tudo que é preciso. O café da manhã é às cinco. O jantar no cair da noite. — Cinco horas da manhã! — exclamou Oz. — E a escola? — perguntou Lou. — É chamada de Pinheiro Grande. A poucos quilômetros daqui. No primeiro dia, Eugene vai levá-los na carroça, nos outros vocês vão a pé. Ou peguem a égua. As mulas não podem ir porque são animais de serviço. Mas a cavalinha vai funcionar. — Não sabemos andar a cavalo — disse Oz, muito pálido. — Vão aprender. Fora dois pés em ordem, cavalo e mula são os melhores veículos para rodar por aqui. — E o carro? — perguntou Lou. Louisa balançou a cabeça. — Não é prático. Gasta dinheiro que a gente não tem. Eugene sabe como funciona e fez um telheiro pra ele ficar. Às vezes até liga o motor. Diz que se não fizer isso a coisa não anda quando se precisa. Não se devia ter uma porcaria dessas, mas o William e a Jane Giles, gente que morava embaixo da estrada, nos deu de presente quando se mudaram. De qualquer modo, eu não sei dirigir, nem tenho a menor intenção de aprender. — Pinheiro Grande é a escola onde meu pai estudou? — perguntou Lou. — É, só que o prédio original não existe mais. Era velho como eu e desabou. Mas a professora é a mesma. As mudanças, como as notícias, chegam devagar por aqui. Tão com fome? — Comemos no trem — disse Lou, incapaz de tirar os olhos do rosto da mulher. — Tá bom. A mãe de vocês já está instalada. Não querem ir ver? — Gostaria de ficar aqui, dando uma olhada no quarto — disse Lou. Louisa manteve a porta aberta para os dois passarem. A voz foi gentil, mas firme. — Primeiro vá ver sua mãe. O quarto era confortável — bem iluminado, janela aberta. Cortinas costuradas em casa, enrugadas pela umidade e descoradas pelo sol, batiam levemente na brisa. Ao olhar em volta, Lou percebeu que talvez não tivesse sido fácil adaptar o lugar para abrigar um doente. Parte da mobília parecia ter recebido lustre, o piso fora esfregado e o cheiro de tinta ainda não saíra das paredes; no canto, havia uma cadeira de balanço meio lascada e, jogado sobre ela, um cobertor grosso. Nas paredes, em molduras ovais de metal, havia fotografias muito antigas de homens, mulheres e crianças, todos vestindo o que, provavelmente, seriam suas melhores roupas: camisas brancas de colarinho duro e chapéus-coco para os homens; saias compridas e gorros para as mulheres; babados de renda para as mocinhas; pequenos ternos e gravatas-borboleta para os meninos. Lou examinou as pessoas. As expressões cobriam toda a gama de variações entre tristeza e alegria, as crianças sendo as mais animadas e as mulheres adultas parecendo as mais desconfiadas,
como se temessem que suas vidas, e não apenas suas fotos, estivessem sendo tiradas. Numa cama de choupo amarelo, Amanda se recostava em grandes travesseiros de penas e tinha os olhos fechados. O colchão, também de penas, irregular mas macio, estava alojado num forro de listas. Uma colcha de retalhos cobria Amanda. Um tapetinho desbotado jazia sob a cama para que nenhum pé descalço tivesse de tocar, logo de manhã, a madeira fria do chão. Lou, porém, sabia que a mãe não poderia usá-lo. Nas paredes, havia cabides com peças de roupa. Num canto, sobre uma velha cômoda, havia um jarro e uma bacia de louça pintada. Lou rodou preguiçosamente pelo quarto, olhando e tocando as coisas. Reparou que a moldura da janela era ligeiramente torta e as vidraças estavam embaçadas, como se uma névoa tivesse conseguido se infiltrar nas coisas. Oz sentou-se ao lado da mãe, inclinou a cabeça e lhe deu um beijo. — Ei, mamãe! — Não pode ouvi-lo — murmurou Lou para si mesma, parando de andar pelo quarto e olhando pela janela. O ar parecia mais puro que qualquer coisa que tivesse sentido antes; havia, na correnteza, uma mistura de árvores e de flores, de fumaça de lenha, pastos altos e animais grandes e pequenos. — Sem dúvida é bonito aqui... na... — Oz olhou para Lou. — Virginia — ela respondeu sem se virar. — Virginia — Oz repetiu, pegando então seu cordão. Da porta, Louisa observava o movimento. — Oz — disse Lou se virando para ver o que o irmão estava fazendo —, esse estúpido cordão não funciona! — Então por que o pegou de volta? — ele perguntou asperamente, e Lou ficou paralisada, pois não soube o que responder. Oz tornou a se virar para Amanda e deu início ao ritual. A cada balanço do cristal de quartzo, a cada palavra sussurrada por Oz, Lou repetia para si mesma que o irmão estava tentando derreter um iceberg com um fósforo; e não queria participar daquilo. Passou correndo pela bisavó e desceu o corredor. Louisa entrou no quarto e sentou-se ao lado de Oz. — Para que serve, Oz? — perguntou apontando para o cordão. Oz segurou com cuidado o cordão e observou-o atentamente. Como se o cordão fosse um relógio e ele estivesse querendo ver as horas. — Um amigo me falou nele. Pode ajudar a mamãe. Lou não acredita nisso. — Fez uma pausa.-Também não sei se acredito. Louisa passou a mão em seu cabelo. — Dizem que a crença de uma pessoa já é meio caminho andado. Sou uma das que apoiam essa ideia. Felizmente para Oz, alguns segundos de desespero eram geralmente seguidos por uma renovação das esperanças. Ele pegou o cordão e colocou-o sob o colchão da mãe. — Talvez ele continue exalando seu poder assim. Ela vai se curar, não vai? Louisa olhou para o menino e depois para a mãe dele, ali deitada tão quieta. Tocou o rosto de Oz com a mão — pele muito velha contra pele muito nova, uma mistura que aparentemente agradou aos dois. — Continue acreditando nisso, Oz. Não deixe nunca de acreditar.
CAPÍTULO DEZ As prateleiras da cozinha eram velhas, simples tábuas de pinho cheias de marcas. com o chão era a mesma coisa e as tábuas corridas estalavam ligeiramente enquanto Oz as varria com uma vassoura de cabo curto. Lou carregava pequenas toras de lenha para o compartimento de ferro de um fogão do catálogo da Sears e que ocupava uma parede do pequeno aposento. Um sol poente atravessou a janela e também espreitou através de cada fissura da parede; havia muitas. Um velho lampião a querosene pendia de um gancho. Gordas panelas pretas de ferro também balançavam ao longo da parede. Em outro canto, via-se um guarda-comida com portas de metal muito marcadas; sobre ele, havia uma fileira de cebolas secas ao lado de um vidro de querosene. Ao examinar cada peça de nogueira ou carvalho, Lou teve a impressão de estar se descartando de cada faceta de sua antiga vida e atirando-as no fogo. Enquanto as chamas as devoravam, ela dizia adeus. O aposento era escuro e os cheiros de madeira úmida ou queimada eram igualmente pungentes. Lou se virou para a lareira. A abertura era larga; ela desconfiou que as coisas eram feitas lá antes da chegada do fogão da Sears. Os tijolos da lareira subiam até o teto e o espaço entre eles estava cheio de pregos. Ali estavam penduradas ferramentas, chaleiras e estranhos exemplares de coisas que Lou não conseguiu identificar mas que pareciam bem usadas. No centro da parede de tijolo, um comprido rifle descansava em dois ganchos fixados na argamassa. Uma batida na porta assustou os dois. Quem esperaria visitas tão acima do nível do mar? Lou abriu a porta e Diamante Skinner encarou-a com um grande sorriso. Ele levantava uma pobre perca de rio, como se estivesse oferecendo as coroas de falecidos reis. O leal Jeb estava a seu lado, o focinho se contorcendo para captar o fino aroma do peixe. Louisa veio rápido lá de fora, o suor brilhando na testa, as luvas e os sapatos cobertos de terra. Arrancou as luvas e esfregou o rosto com um trapo suado tirado do bolso. O cabelo longo estava preso sob um lenço de cabeça, os fios prateados brotando aqui e ali. — Bem, Diamante, acho que é a mais bela perca de rio que já vi, meu filho. — Deu uma batidinha na cabeça do Jeb. — E como vai o senhor, mister Jeb? Ajudou Diamante a pegar esse peixe para nós? — É, ajudou. — O sorriso de Diamante se alargou de tal forma que Lou pôde quase contar os dentes. — Será que o Diabo-Não... Louisa ergueu um dedo e corrigiu num tom gentil, mas firme. — Eugene. — Sim senhora, desculpe. — Diamante olhou para o chão, arrependido da vacilação. — Será que o Eugene contou... — Que ia nos trazer o jantar? Contou. E que ia jantá-lo conosco, porque foi você quem pescou. Aproveite pra conhecer a Lou e o Oz. Tenho certeza que vão ser bons amigos. — Já nos conhecemos — disse Lou num tom formal. — Bem — disse Louisa olhando para o espaço entre ela e Diamante —, isso é ótimo. Você e Diamante são quase da mesma idade. E é bom pró Oz ter outro rapazinho para conversar. — Ele tem a mim — disse bruscamente Lou. — Sim, tem — concordou Louisa. — bom, Diamante, então você fica pra refeição, certo? Ele considerou a proposta. — É, hoje num tenho mais compromisso... Tá bom, acho que fico. — Diamante olhou para Lou, passou a mão na sujeira do rosto e tentou endireitar uma mecha de cabelo dentre uma dúzia de
outras. Lou, no entanto, tinha virado para o lado, completamente inconsciente de seu esforço. A mesa foi posta com os pratos de vidro da época da Depressão e os copos da aveia Crystal Winter que, segundo a própria Louisa, haviam sido colecionados durante anos. Os pratos eram verdes, rosados, azuis, encarnados e cor de âmbar. Por mais bonitos que fossem, no entanto, ninguém estava se concentrando neles. Na realidade a comida estava sendo atacada em conjunto e só se ouvia o barulho metálico das facas e garfos. Assim que Louisa acabou de fazer a prece, Lou e Oz fizeram o sinal-da-cruz. Diamante e Eugene os olharam curiosos, mas não disseram nada. Jeb foi para um canto, surpreendentemente resignado com sua porção. Agora, enquanto Eugene, sentado numa das cabeceiras da mesa, mastigava metodicamente a comida, Oz devorava a parte dele com tanta rapidez que Lou pensou seriamente em verificar se o garfo também não estaria descendo pela garganta. Louisa serviu a Oz a última posta do peixe frito no toicinho, o resto das verduras cozidas e outra fatia da broa de milho assada no azeite, uma coisa que, para Lou, era mais gostosa que sorvete. Louisa não enchera seu prato. — Não comeu peixe nenhum, Louisa — disse Oz olhando com sentimento de culpa para seu segundo prato cheio. — Não está com fome? — Ver um menino comendo para se transformar num homem adulto já dá pra encher a barriga. E comi enquanto cozinhava, querido. Sempre faço isso. Eugene olhou para Louisa com ar interrogativo, mas voltou a comer. O olhar de Diamante continuava circulando entre Lou e Oz. De novo parecia ávido para fazer amigos, assim como parecia não saber muito bem como levar isso a cabo. — Não pode me mostrar os lugares por onde meu pai gostava de andar? — Lou pediu a Louisa. — As coisas que gostava de fazer? Eu também escrevo, sabia? — Sabia — disse Louisa, e Lou atirou-lhe um olhar espantado. Louisa pousou o copo d'água e estudou a expressão da neta. — Seu papai gostava de contar histórias desta terra. Mas antes ele fez uma coisa realmente inteligente. — Ela se interrompeu vendo o ar medidativo de Lou. — Fez o quê? — a menina finalmente perguntou. — Conseguiu entender este chão. — Entender... este chão? — Ele tem muitos segredos, que nem sempre são bons. As coisas podem feri-la por aqui, realmente feri-la muito, se você não toma cuidado. O tempo é muito caprichoso, pode deixá-la muito magoada à primeira desatenção. A terra não ajuda quem nunca se preocupou em entendê-la. — Nesse momento, ela olhou para Eugene. — Só o Senhor sabe como Eugene tem me ajudado. Este sítio afundaria num minuto sem a força do seu braço. Eugene engoliu um pedaço de peixe e o fez descer com o gole de água que acabara de despejar em seu copo. Quando Lou se virou, a boca de Eugene tremia, mas ela interpretou a coisa como um grande sorriso. — O fato — continuou Louisa — é que a vinda de vocês dois foi uma bênção. Alguns podem achar que os estou ajudando, mas não é verdade. Vocês estão me ajudando muito mais do que eu a vocês. Obrigada. — Não tem de quê — disse Oz num tom de galanteio. O prazer foi todo nosso. — A senhora disse que havia tarefas — interveio Lou. — O melhor é mostrar — respondeu Louisa olhando para Eugene —, não dizer. Começo amanhã de manhã. Diamante não pôde mais se conter. — O pai de Johnny Booker disse que uns sujeitos andaram rondando por aqui. — Que sujeitos? — perguntou Louisa vivamente.
— Não sei. Mas estão fazendo perguntas sobre as minas de carvão. — Coloque sua barba de molho, Diamante. — Louisa olhou para Lou e para Oz. — Nós todos vamos fazer isso. Deus nos pôs nesta terra e nos levará quando for de sua vontade. Enquanto isso, temos de cuidar uns dos outros. Oz sorriu e disse que ainda não tinha barba para pôr de molho. Todos, exceto Lou, deram uma risada. Ela se limitou a olhar para Louisa, e não abriu a boca. A mesa estava tirada e, enquanto Louisa esfregava os pratos, Lou manejava a bomba manual da pia, com força, mas do modo como Louisa ensinara para só fazer sair um jato muito fino. Lou ficou sabendo que não havia água encanada. Louisa também explicou como funcionava o banheiro na casinha fora da casa e mostrou os rolos de papel higiênico guardados na despensa. Disse que era preciso pegar um lampião para usar o banheiro à noite, e mostrou a Lou como acender um. Se o apelo da natureza fosse muito urgente e não permitisse a chegada a tempo à casinha, havia um penico embaixo de cada cama. Louisa, no entanto, informou que a limpeza do penico era estritamente da responsabilidade de quem o usava, e Lou se perguntou como o medroso Oz, campeão no uso do banheiro no meio da noite, ia lidar com esse detalhe. Ela já se imaginava parada muitas vezes à noite na porta da casinha enquanto o irmão fazia o que precisava, e isso era um pensamento muito desagradável. Oz e Diamante saíram com Jeb logo depois do jantar. Na cozinha, Lou viu Eugene tirar o rifle do suporte sobre a lareira. Ele carregou a arma e saiu. — Onde ele vai com essa arma? — perguntou Lou. — Dar uma olhada na criação — disse Louisa esfregando vigorosamente as travessas com uma espiga de milho seca. Temos vigiado as vacas e porcos, porque o Velho Mo anda por aí. — O Velho Mo? — É um puma. O maldito gatão deve ter a minha idade, mas continua causando problemas. Não para as pessoas, é claro. Também deixa em paz a égua e as mulas, especialmente as mulas, Hit e Sam. Nunca mexa com uma mula, Lou. São as criaturas mais turronas que Deus já fez. Por qualquer coisa, a maldita fica de má vontade até o Juízo Final. Aí você tem de usar o chicote ou soltar uma boa vareta no lombo. Tem gente que acha que as mulas têm quase a inteligência de uma pessoa. Acho que é por isso que ficam tão rabugentas. — Ela sorriu. — O fato é que Mo corre mesmo atrás das ovelhas, dos porcos e das vacas. Temos de protegê-los. Eugene vai dar uns tiros pra afugentar o Velho Mo. — Diamante contou que Eugene foi abandonado pelo pai. — Mentira! — disse Louisa, olhando-a severamente. tom Randall era um bom homem. — Então o que aconteceu com ele? — insistiu Lou quando Louisa já não parecia inclinada a continuar. Louisa acabou primeiro de lavar uma travessa e colocou-a para secar. — A mãe de Eugene morreu nova. tom deixou o bebê com uma irmã e foi para Bristol, no Tennessee, atrás de trabalho. Ele era mineiro de carvão, mas muita gente começou a chegar procurando trabalho nas minas daqui e eles sempre vão colocando os negros na frente. tom morreu num acidente em Bristol antes de poder mandar buscar Eugene. Quando a tia de Eugene faleceu, eu fiquei com ele. O resto é pura mentira de gente que tem ódio no coração. — Eugene sabe o que houve? — Claro que sabe! Contei quando ele cresceu. — Então por que não conta a verdade às pessoas? — As pessoas não querem ouvir, não dão a mínima para o que se tenta explicar. — Atirou um olhar para Lou. — compreende isso, não é? Lou abanou a cabeça, mas não estava lá muito convencida de ter compreendido.
CAPÍTULO ONZE Ao sair, Lou viu Diamante e Oz debruçados na cerca quebrada do estábulo onde o cavalo pastava. Assim que a viu, Diamante tirou do bolso um pedaço de papel e um pouco de tabaco, enrolou o cigarro, lambeu o papel para colar e riscou um fósforo numa ripa. Quando acendeu o cigarro, Oz e Lou abriram a boca de espanto. — E muito garoto para fazer isso! — exclamou Lou. Diamante sacudiu a mão, rejeitando o protesto. No rosto, um sorriso de satisfação. — To crescendo faz tempo. E um homem é sempre um homem. — Somos praticamente da mesma idade, Diamante. — Sou um pouco mais velho, cê sabe... — Onde você e sua família moram? — perguntou Lou. — Lá embaixo na estrada, um pouco antes de se chegar a algum lugar. Diamante tirou do bolso uma bola de beisebol e jogou-a para cima. Jeb correu atrás e trouxea de volta. — Um homem me deu essa bola porque li o futuro dele. — E o que dizia o futuro dele? — perguntou Lou. — Que ele ia dar a um sujeito chamado Diamante sua velha bola de beisebol. — Está ficando tarde — disse Lou. — Seus pais não ficam preocupados? Diamante soprou a fumaça do cigarro doméstico dentro do macacão e, enquanto se preparava para atirar novamente a bola, pôs o cigarro atrás da orelha. — Bem, como eu disse, to crescendo faz tempo. E num vou fazer nada só porque eles querem. — O que é isso? — disse Lou apontando para uma coisa que tremia sobre o macacão de Diamante. Ele baixou os olhos e riu. — Pata esquerda traseira de um coelho do cemitério. Depois de um coração inteiro de bezerro, é a coisa que dá mais sorte. Ei, será que não ensinaram nada a vocês na cidade? — Um coelho do cemitério? — disse Oz. — Sim, senhor. Apanhado e morto no cemitério, na calada da noite. — Soltou a pata da pequena corrente e entregou-a a Oz. — Tá aqui, filho. Posso conseguir outra na hora que quiser. — Puxa — disse Oz, pegando reverentemente o pé de coelho. — Obrigado, Diamante. — E acrescentou, vendo Jeb correr atrás da bola: — O Jeb é mesmo um cachorro incrível! Pega sempre a bola. Jeb trouxe a bola e depositou-a na frente do dono. Diamante, então, jogou-a para Oz. — Provavelmente não tem muito espaço pra se jogar nada na cidade, mas procure se mexer, filho. Oz encarava a bola como se nunca tivesse segurado uma. Depois olhou para Lou. — Vá em frente, Oz— disse ela. — É só jogar. Oz tomou posição e atirou a bola, o braço subindo como um chicote, a bola disparando de sua mãozinha como um pássaro libertado, subindo mais e mais. Jeb correu atrás, mas a bola parecia ter sido lançada com muita força. Atônito, Oz se limitou a apreciar o que tinha feito. Lou também. O cigarro caiu da orelha de um assustado Diamante: — Deus meu, onde aprendeu a atirar desse jeito? Oz pôde apenas exibir o esplêndido sorriso de quem acabava de pressentir que talvez tivesse uma vocação atlética. Depois se virou e correu atrás da bola. Lou e Diamante ficaram um instante em silêncio, e logo a bola veio jogada de volta. Não conseguiram sequer enxergar Oz na
escuridão crescente, mas ouviram a corrida dos dois, dele e de Jeb, um total de seis vigorosas pernas disparando atrás da bola. — Então o que as pessoas fazem para se divertir por aqui, Diamante? — perguntou Lou. — Geralmente pescam. Ei, você já desceu numa mina? — Não existem minas na cidade de Nova York. Alguma outra ideia? — Bem — ele fez uma pausa de efeito —, temos, é claro, o poço assombrado. — Um poço assombrado? — exclamou Oz, que acabara de completar a corrida, Jeb nos calcanhares. — Onde fica? — perguntou Lou. — Vamos lá agora. O capitão Diamante e sua companhia de infantaria ultrapassaram a fileira de árvores e começaram a atravessar um campo aberto. Havia ali uma relva alta, tão fina e tão uniforme que lembrava cabelo penteado. O vento era frio, mas estavam empolgados demais para se preocuparem com esse ligeiro desconforto. — Onde é? — perguntou Lou, correndo ao lado de Diamante. — Xiii! Calem a boca, não podemos fazer barulho. Há fantasmas em volta. Continuaram avançando. De repente, Diamante gritou: — Abaixem! — Como se estivessem atados por uma corda esticada, pararam todos ao mesmo tempo. — Que foi, Diamante? — perguntou Oz num tom pouco firme. — Achei que tinha ouvido alguma coisa, só isso. — Diamante escondeu um sorriso. — Todo cuidado é pouco com relação a fantasmas. Eles sempre gostam de provocar. — O que estão fazendo aqui? O homem tinha saído de trás de um grupo de nogueiras, a espingarda na mão direita. Lou percebeu, sob a luz da Lua, o clarão de um mal-intencionado par de olhos cravados neles. Ficaram os três paralisados quando o sujeito se aproximou. Lou pôde reconhecê-lo. Era o maluco do trator que passara em disparada descendo a serra. O homem parou na frente deles e a boca cuspiu um naco de goma de mascar junto de seus pés. Não têm nada que fazer por aqui — disse erguendo um pouco a espingarda e encostando o cano no braço esquerdo; a boca da arma, assim, ficava apontada para os garotos. O dedo indicador do sujeito estava perto do gatilho. Diamante deu um passo à frente: — Não estamos fazendo nada, George Davis, só dando uma volta e não há nenhuma lei contra isso. — Cale a boca, Diamante Skinner, antes que eu ponha o dedo nisto! — Ele estreitou os olhos para Oz que, sem parar de tremer, recuou para agarrar o braço da irmã. — São os guris que Louisa pegou. Aqueles da mãe que ficou aleijada, não é? — tornou a cuspir. — Tu não tem nada a ver com isso — disse Diamante. Deixa eles em paz. Davis se aproximou de Oz. — Tem um puma por aqui, garoto — disse num tom baixo e zombador. De repente um grito: — Já pensou se ele cerca você? — E então Davis simulou uma arremetida contra Oz, que se atirou no chão, curvando-se na relva alta. Ele deu uma gargalhada perversa ao ver o pavor do menino. — Fique longe de nós! — disse Lou se colocando entre o sujeito e o irmão. — Vá para o inferno, garota — disse Davis. — Dizendo a um homem o que fazer? — Olhou para Diamante. — Está na minha terra, rapaz. — Esta terra não é sua! — berrou Diamante, as mãos se transformando em punhos cerrados, o olhar ansiosamente fixado na espingarda: — Não é de ninguém! — Me chamando de mentiroso? —
explodiu Davis num tom de dar medo. Então o grito veio. Ficou cada vez mais alto até Lou achar que seria certamente capaz de derrubar as árvores ou soltar as rochas lá em cima, fazendo-as rolar pela montanha e talvez, com sorte, liquidar aquele adversário. Jeb se aproximou rosnando, o pêlo arrepiado. Davis olhou nervoso para as árvores. — Tem uma espingarda — disse Diamante. — Por que não vai pegar esse gato velho? Claro, pode tá com medo. Davis cravou furioso os olhos no rapaz, mas então o grito voltou para afetar todos eles com a mesma intensidade. Davis, então, começou a se afastar num meio trote em direção às árvores. — Vamos agora! — berrou Diamante, e correram o mais que puderam por entre árvores e novas clareiras. Corujas piavam e uma codorna deu um grito. Coisas que não podiam ver subiam e desciam pelos troncos altos dos carvalhos ou atravessavam correndo o caminho. Nada, porém, chegava nem perto de assustá-los como George Davis e sua espingarda haviam conseguido. Lou era um borrão no escuro, mais rápida até mesmo que Diamante. Quando Oz, porém, tropeçou e caiu, ela voltou para ajudá-lo. Finalmente pararam e se abaixaram na relva alta, respirando forte, prestando atenção para ver se algum tratorista maluco ou algum gato selvagem vinha atrás. — Quem era mesmo aquele sujeito horrível? — perguntou Lou. — George Davis. — Diamante tinha olhado para trás antes de responder. — Tem um sítio ao lado da dona Louisa. É um cara tinhoso. Um cara mau! Deve ter caído de cabeça quando era bebê ou levado um coice de mula, não sei. Tem uma destilaria de bebidas aqui por perto, numa das grotas, por isso não gosta de gente metendo o nariz. Devia levar um tiro. Logo atingiram outra pequena clareira. Diamante ergueu a mão para que parassem e, orgulhoso, apontou para a frente, como se tivesse acabado de descobrir a arca de Noé numa crista de um monte da Virginia. — Está ali. Era um poço de tijolos com crostas de limo, desmoronando em certos pontos e inegavelmente assombrado. Os três se aproximaram furtivamente; Jeb guardando a retaguarda do grupo enquanto procurava farejar pequenas presas na relva. Olharam os três pela borda do poço. Era negro, aparentemente sem fundo; podiam estar olhando para o outro lado do mundo. Coisas de todo tipo também podiam estar espreitando de lá. — Por que disse que é assombrado? — perguntou Oz esbaforido. ' Diamante se deitou na relva ao lado do poço, no que foi imitado pelos outros. — Cerca de mil milhões de anos atrás — começou numa voz densa, vibrante, que fez os olhos de Oz simultaneamente se arregalarem, piscarem rápido e se encherem de lágrimas —, moravam aqui um homem e uma mulher. Claro, estavam apaixonados, não há como negar. E assim queriam juntar os trapos. Só que as famílias se odiavam e não queriam deixar os dois se casarem. Não senhor. Então eles tramaram um plano pra fazer a coisa na moita. Só que num deu certo e, na opinião do cara, por culpa da mulher. Então ele perdeu a cabeça, veio até este poço e se jogou. Foi uma queda funda, vocês viram a fundura, e ele se afogou. Quando a guria descobriu o que tinha acontecido, também veio até aqui e também se jogou. Nunca foram achados; foi como se os dois tivessem se evaporado no sol. Nem uma migalhinha sobrou. — É meio parecido — disse Lou, radicalmente intocada pela tristeza da narrativa — com Romeu e Julieta.
— Parentes seus? — Diamante parecia confuso. — Você só inventou — disse ela. Por toda a volta, brotaram ruídos muito curiosos. Como milhões de pequenas vozes, todas querendo falar ao mesmo tempo. Eram como formigas que tivessem adquirido laringes. — Que é isso? — disse Oz, agarrando-se a Lou. — Não duvide de minhas palavras, Lou — soprou Diamante, o rosto da cor de sorvete branco. — Está irritando os espíritos. — Sim, Lou — disse Oz olhando em volta, com medo que demônios do inferno viessem pegá-los. — Não fique irritando os espíritos. Os ruídos finalmente cessaram e Diamante, recuperando a autoconfiança, olhou triunfante para Lou. — Droga! Qualquer tolo percebe que este poço é mágico. Consegue ver alguma casa por perto? Não, e vou lhe dizer por quê. Este poço brotou sozinho de dentro da terra, é por isso. E não é apenas um poço assombrado. É o que as pessoas chamam de poço dos desejos. — Um poço dos desejos? — disse Oz. — Ora! — Duas pessoas se separaram, mas ainda se amam. Sabe como é, as pessoas morrem, mas o amor nunca. Isto fez a magia do poço. Quem tem um desejo, vem até aqui, faz o pedido e o pedido acontece. Sempre. Faça chuva ou faça sol. — Qualquer desejo? — perguntou Oz lhe agarrando o braço. — Tem certeza? — Bissoluta. Só que tem um pequeno problema. — Já imaginava — manifestou-se Lou. — Qual é? — Como morreu gente pra transformar isto aqui num poço dos desejos, quem pede uma coisa tem de desistir de outra. — Desistir de quê? — Era Oz, tão entusiasmado que parecia pairar sobre a relva como um balão de gás. Diamante ergueu os braços para o céu escuro. — Desistir da maior, da coisa mais importante que houver em todo o maldito mundo. Lou não ficaria surpresa se Diamante estivesse esperando aplausos. E soube o que estava por vir quando Oz deu um puxão em sua manga. — Lou, talvez a gente possa... — Não! — retrucou ela asperamente. — Oz, tem de compreender que cordões com pingentes e poços dos desejos não funcionam. Nada disso existe! — Mas, Lou. A menina ficou de pé e agarrou-o pela mão. — Não seja estúpido, Oz. Vai ser mais uma decepção para fazê-lo chorar. Lou começou a se afastar. Após um segundo de hesitação, Oz foi atrás. Diamante foi deixado sozinho com os despejos de alguma coisa, certamente não de alguma vitória, a julgar pelo ar de desapontamento. Quando olhou em volta e assobiou, Jeb veio correndo. — Vamos pra casa — disse ele em voz baixa. A dupla se afastou na direção oposta à de Lou e Oz, enquanto as montanhas se preparavam para o sono. CAPÍTULO DOZE Ainda não havia traço de luz lá fora quando Lou ouviu o ruído de passos na escada. A porta do quarto foi aberta e ela se sentou na cama. O clarão de um lampião flutuou no ar, seguido por
Louisa, já plenamente vestida. com suas ondas de cabelo prateado e a suave luminosidade que a cercava, a mulher surgiu ante a mente sonolenta de Lou como uma mensageira dos céus. O ar no quarto estava um tanto frio; Lou achou que podia ver a própria respiração. — Achei que ia encontrar você e Oz dormindo — disse gentilmente Louisa ao se aproximar e sentar ao lado de Lou. Lou sufocou um bocejo e contemplou a escuridão do outro lado da janela. — Que horas são? — Quase cinco. — Cinco! — Lou afundou a cabeça no travesseiro e tampou o rosto com o cobertor. Louisa sorriu. — Eugene está tirando o leite. Procure aprender como ele faz. — Não se pode fazer isto mais tarde? — perguntou Lou sob o cobertor. — As vacas não gostam de esperar por nós — disse Louisa. — Ficam mugindo até a teta ficar seca. — E acrescentou: Oz já está pronto. — Mamãe só conseguia tirá-lo da cama às oito — disse Lou se empinando —, e mesmo assim era uma luta. — Ele agora está comendo um prato de melado com broa de milho e leite. Por que não vem tomar o café conosco? Lou jogou longe as cobertas e seus pés encostaram no chão frio, o que fez um tremor seguir direto para seu cérebro. Agora estava mesmo convencida de que podia ver a própria respiração. — Me dê cinco minutos — disse bravamente. — Esta madrugada geou — disse Louisa, notando o evidente mal-estar físico da menina. — Aqui em cima o frio é pior. Entra nos ossos como uma faquinha. Ainda vamos ter uns dias de calor, mas quando o inverno chegar, coloco você e o Oz no quarto da frente, bem ao lado da lareira. As brasas vão mantê-los aquecidos a noite inteira. Vão gostar de viver aqui. — Ela fez uma pausa e olhou ao redor do quarto. — Não posso lhes dar o que tinham na cidade, mas farei o melhor possível. — Louisa se levantou e foi até a porta. — Já pus água quente na bacia pra que possam se lavar. — Louisa? A mulher se virou, o arco de luz do lampião atirando e ampliando sua sombra contra a parede. — Sim, querida? — Este foi o quarto do meu pai, não foi? Louisa olhou em volta devagar antes de enfrentar a pergunta e o olhar da menina. — Desde os quatro anos de idade até o momento em que foi embora. Não deixei ninguém usar o quarto desde então. Lou apontou para as paredes cobertas. — Foi meu pai que fez isso? Louisa abanou a cabeça. — Andava quinze quilômetros para conseguir um jornal ou um livro. Depois de ler tudo uma dúzia de vezes, punha os jornais na parede e continuava a ler. Nunca vi um garoto tão curioso em toda a minha vida. — Virou-se para Lou. — Aposto que é parecida com ele. — Queria lhe agradecer por ficar com Oz e comigo. — Aqui também será bom para sua mãe — disse Louisa, olhando para a porta. — Nós todos vamos cuidar dela. Ela vai ficar bem. Lou desviou o olhar, começando a mexer na camisola de dormir. — Desço num minuto — disse bruscamente. Sem comentário, Louisa aceitou a mudança nos modos da menina, saiu e fechou
cuidadosamente a porta. Lá embaixo, Oz estava acabando de tomar o café da manhã quando Lou apareceu. Vestia uma calça comprida desbotada, um blusão comprido e as botas de cordão que Louisa tinha lhe dado. Um lampião preso num gancho da parede e as brasas da lareira forneciam toda a iluminação do ambiente. Lou deu uma olhada no relógio da bisavó no console da lareira, um pequeno relógio oval de carvalho polido. Na verdade, já passava um pouco das cinco. Quem poderia imaginar que as vacas acordassem tão cedo, ela pensou. — Ei, Lou — disse Oz. — Tem de provar este leite. É ótimo. Louisa olhou para Lou e sorriu. — As roupas ficaram realmente muito bem. Tinha quase certeza que iam dar. Se as botas estiverem largas, podemos enchê-las com trapos. — Estão ótimas — disse Lou, embora parecessem um tanto apertadas, machucando seus pés em algum lugar. Louisa trouxe uma vasilha e um copo. Pousou o copo na mesa, pôs um pano em cima dele e despejou leite diretamente da vasilha, a espuma borbulhando no pano. — Quer melado na broa de milho? — perguntou ela. — É realmente gostoso. E faz a barriga empinar. — É ótimo — falou Oz num tom vibrante enquanto mordia a última fatia de pão e a fazia descer com um resto de leite. Lou olhou para o próprio copo. — Para que serve o pano? — Para tirar do leite as coisas que você não precisa tomar — respondeu Louisa. — Está querendo dizer que o leite não é pasteurizado? disse Lou num tom tão aflito que Oz olhou para o copo vazio e fez cara de quem ia bater as botas naquele instante. — O leite não esteve no pasto? — perguntou ele ansioso. — Vai fazer mal? — O leite é ótimo — disse Louisa com voz calma. — Tomei-o assim a vida toda. Seu pai também. Ouvindo isto, um aliviado Oz recostou-se na cadeira e voltou a respirar. Lou cheirou o leite e provou-o duas vezes, com cautela. Depois sorveu um gole maior. — Não falei que era bom? — disse Oz. — Provavelmente colocar no pasto deixa o sabor ruim, eu acho. — Pasteurização vem do sobrenome de Louis Pasteur, o cientista que descobriu um processo que mata as bactérias e torna o leite seguro para beber. — Tenho certeza que ele foi um homem inteligente — disse Louisa, colocando uma travessa com broa de milho e melado na frente de Lou. — Mas fervemos o pano que usamos como coador e obtemos o mesmo efeito. — O modo como disse isso fez Lou desistir do assunto. Lou pegou uma grande fatia da broa com melado e seus olhos se arregalaram com o sabor. — Onde a senhora compra? — perguntou. — Compro o quê? — Esta comida. É realmente gostosa. — Não falei? — disse novamente Oz num tom arrogante. — Não compro nada, querida — disse Louisa. — Sou eu que faço. — Como se faz? — Vai ver quando eu fizer de novo. É muito melhor que contar. Melhor ainda é você própria fazer. Agora, corra porque vai encontrar uma vaca chamada Bran. A velha Bran causa problemas que vocês dois podem ajudar o Eugene a resolver. com esse estímulo, Lou acabou rapidamente de comer e correu com Oz para a porta.
— Esperem, crianças — disse Louisa. — Venham pôr os pratos aqui na pia. E vou dar uma coisa de que vão precisar. Pegou outro lampião, acendeu e o cheiro do querosene encheu o ambiente. — A casa não tem mesmo eletricidade? — perguntou Lou. — Conheço gente em Tremont que instalou essa droga. Ela para às vezes e o pessoal fica sem saber o que fazer. Como se ninguém soubesse mais acender um lampião. Bem, quero um bom lampião a querosene; isso pra mim chega. Oz e Lou levaram os pratos para a pia. — Depois que acabarem no celeiro, vou mostrar a casa de refrigeração. É onde a gente pega nossa água. Pegamos duas vezes por dia. Vai ser uma das tarefas de vocês. Lou parecia confusa. — Mas a senhora tem a bomba. — Só pra lavar os pratos e coisas assim, mas precisamos de água pra muita coisa mais. Prós animais, pró banho, pra lavar a roupa e as ferramentas. A bomba não tem muita pressão. Demora um dia pra encher um balde de bom tamanho. — Ela sorriu. — Às vezes parece que a gente gasta a maior parte do fôlego carregando água e lenha. Me achei uma burra de carga durante os primeiros dez anos de minha vida. Quando os dois estavam novamente para cruzar a porta, Lou parou agarrada ao lampião. — Ha, onde fica mesmo a vaca? — Não acha melhor eu mostrar a você? A friagem era de cortar os ossos, e Lou deu graças a Deus por estar usando um blusão grosso, embora ainda colocasse as mãos sem luvas sob as axilas. com Louisa e seu lampião abrindo caminho, passaram pelo galinheiro, pelos currais e chegaram ao celeiro, uma construção em forma de A, com grandes portas duplas. As portas estavam abertas e lá dentro havia uma luz solitária. Lou ouvia os roncos e berros dos animais, o roçar de cascos inquietos no chão, enquanto do galinheiro chegava a agitação de um esvoaçar de asas. O céu estava curiosamente mais escuro em certos pontos que em outros e, de repente, Lou percebeu que os trechos de ébano eram os Apalaches. Nunca tinha visto uma noite como aquela. Sem ruas iluminadas, sem luzes nos prédios, sem carros, sem iluminação de qualquer espécie fornecida por baterias ou eletricidade. Os únicos pontos de luz eram as poucas estrelas no céu, o lampião de querosene que Louisa carregava e aquele que presumivelmente estaria com Eugene no celeiro. A escuridão, porém, de modo algum a assustava. Na realidade, se sentia estranhamente segura acompanhando o vulto alto da bisavó. Oz as seguia de perto e Lou percebeu que o irmão não estava tão à vontade quanto ela. Sabia que, se tivesse tempo para pensar, Oz veria praticamente tudo como fonte de indizível terror. O celeiro tinha cheiro de montes de ferragem, terra úmida, grandes animais e estrume quente. O chão de terra estava coberto com palha. Das paredes pendiam rédeas e freios, alguns com tiras de couro rachadas e gastas, outros brilhantes, muito flexíveis. Havia um balancim sobre o forro de uma boleia de carroça. Um palheiro era alcançado por uma escada de madeira, cujo segundo degrau estava quebrado. O palheiro ocupava a maior parte do jirau e estava cheio de feno solto e enfardado. Havia vigas centrais de eucalipto e Lou presumiu que ajudariam a sustentar o teto. O celeiro tinha pequenas baias dos lados e atrás, e também algumas pocilgas e cocheiras. Égua, mulas, porcos e carneiros perambulavam em suas respectivas áreas. Lou podia ver nuvens de ar frio irrompendo das narinas quentes dos animais. Eugene estava numa baia, sentado num pequeno banco de três pernas quase invisível sob seu corpo. Logo à direita havia uma vaca, branca com manchas pretas. A cauda se contorcia de um lado para o outro, a cabeça mergulhava na manjedoura. Louisa deixou os garotos com Eugene e voltou a entrar em casa. Oz chegou para perto de Lou
quando a vaca na outra baia deu um encontrão na divisória e soltou um mugido. Eugene olhou para eles. — A velha Bran pegou a febre do leite — disse. — Temos de puxar. — Apontou para o canto da baia, onde havia uma bombinha de metal enferrujada. — Me passe aquela bomba, dona Lou. Lou obedeceu e Eugene apertou a mangueira contra uma das tetas de Bran. — Agora bombeie. Oz bombeou enquanto Eugene procurava segurar a ponta da mangueira contra cada uma das quatro tetas e esfregava o úbere da vaca, que estava inflando como uma bola. — Nunca prendeu o leite, sempre foi uma boa moça. Vamos cuidar de você — disse Eugene a Bran, num tom confortador. — Tudo bem, agora já chega. — Oz parou de bombear e recuou, esperando. Pousando a bomba, Eugene fez sinal para Lou tomar seu lugar no banquinho. Guiou suas mãos para as tetas de Bran e mostrou como ela devia segurá-las e como tinha de esfregar para deixá-las elásticas, ajudando assim o fluxo. — Bombeamos para o leite sair e agora temos de fazê-la secar. Puxe com força, dona Lou, a velha Bran não está nem aí. Faça o leite correr até o fim. Ele a estava machucando demais. A princípio, Lou hesitou ao puxar, mas de repente começou a entrar no ritmo. As mãos passaram a trabalhar com eficiência e os três puderam ouvir o ar escapando do úbere. Esse ar formava nuvenzinhas quentes na atmosfera fria. — Posso tentar? — disse Oz dando um passo à frente. Lou se levantou e Eugene pôs o garoto em cima do banco. Logo Oz estava tirando leite tão bem quanto Lou, até só sobrarem gotinhas nas pontas das tetas. — Está indo muito bem, sr. Oz. Costumava tirar leite na cidade? Dessa, todo mundo riu. Três horas depois, Lou e Oz não estavam mais rindo. Haviam ordenhado as outras duas vacas (uma com um bezerro na barriga, Louisa dissera), ficando meia hora com cada uma. Também haviam carregado quatro grandes baldes de água para a casa e tirado mais quatro da casa de refrigeração para dar aos animais. Na sequência, houve duas viagens carregando lenha e três levando carvão para encher os depósitos da casa. Agora estavam dando a lavagem aos porcos, e a lista de tarefas só parecia crescer. Oz lutava com um balde, que Eugene ajudou a transportar pelo alto da cerca da pocilga. Lou despejou o seu e deu um passo atrás. — Não posso acreditar que temos de alimentar os leitões disse. — Eles realmente comem muito — acrescentou Oz, vendo as criaturas investirem contra o que parecia ser uma espécie de lixo líquido. — São nojentos — disse Lou, limpando as mãos na calça comprida. — E nos servem de comida quando é preciso. Os dois se viraram e viram Louisa parada, um balde cheio de milho para as galinhas numa das mãos, a testa molhada de suor a despeito do frio. Ela pegou o balde vazio de Lou e entregou-lhe o cheio. — Quando a neve chega, num há como descer a montanha. Temos de ter nossa comida aqui. E eles são porcos, Lou, não leitões. — Lou e Louisa mantiveram silenciosamente os olhos no chão por um momento de constrangimento mútuo, mas logo o som de um carro chegando fez as duas olharem para a casa. Era um Oldsmobile conversível, exibindo todos os seus quarenta e sete cavalos de força e
um assento suplementar na traseira. A pintura preta estava lascada e enferrujada em diversos pontos, havia um amassado no para-lama e os pneus estreitos pareciam quase carecas. Apesar do frio da manhã, a capota estava aberta. Era um belo destroço de carro. O motorista estacionou e saltou. Era alto, com um corpo magricela que sugeria tanto certa fragilidade quanto uma excepcional energia. Tirou o chapéu revelando um cabelo preto e liso, muito bem aparado em volta da cabeça. Um nariz e um queixo bem-feitos, simpáticos olhos azuis e uma boca com inúmeras rugas de riso davam-lhe um ar de quem seria capaz de enfrentar sorrindo o pior dos dias. Parecia mais perto dos quarenta que dos trinta. O terno era cinza, com um colete escuro e um relógio do tamanho de um dólar de prata na ponta da corrente grossa que passava pela frente do colete. A calça do terno era larga nos joelhos e os sapatos havia muito tinham perdido o brilho. Começou a caminhar na direção deles, mas de repente parou e voltou para o carro, de onde tirou uma velha e gorda pasta. Com ar distraído, Lou especulava examinando com atenção o desconhecido. Após conhecer Diabo-Não e Diamante, estava curiosa para saber qual seria o estranho nome do recém-chegado. — Quem é? — perguntou Oz. — Lou, Oz — disse Louisa em voz baixa —, este é Cotton Longfellow, o melhor advogado das redondezas. O homem sorriu e apertou a mão de Louisa. — Bem, como sou também um dos pouquíssimos advogados das redondezas, essa é, no mínimo, uma distinção um tanto duvidosa, Louisa. Lou nunca vira um sotaque daqueles, uma mistura da fala arrastada do sul com o ritmo da Nova Inglaterra. Não conseguiu vinculá-lo a uma determinada região e costumava ser muito boa nisso. Cotton Longfellow! Meu Deus, pelo menos não se desapontara acerca do nome! Cotton pousou a pasta e continuou apertando solenemente as mãos, embora um brilho de descontração brotasse em seus olhos. — É um grande prazer conhecer os dois. Se bem que praticamente já os conhecia com base em tudo que ouvi de Louisa. Sempre achei que chegaria o dia de vê-los pessoalmente, embora seja terrível que tenha de ser nessas circunstâncias. — Dissera a última frase com uma gentileza que mesmo Lou achou perfeita. — Cotton e eu temos algumas coisas a conversar. Depois de cuidarem dos porcos, ajudem Eugene a tocar o resto da criação e a pegar o feno. Depois podem encerrar apanhando os ovos. Quando Cotton e Louisa começaram a se afastar, Oz pegou seu balde e, contente, foi dar mais comida aos porcos. Lou, no entanto, ficou olhando para Cotton e Louisa, obviamente não pensando em porcos. Na realidade, especulava sobre um homem com o estranho nome de Cotton Longfellow, de fala meio esquisita e que parecia saber tanta coisa sobre eles. Finalmente, prestou atenção num porco de uns duzentos quilos que poderia impedir que morressem todos de fome no inverno, e marchou atrás do irmão. Os paredões dos montes pareciam se fechar em volta da menina. CAPÍTULO TREZE Cotton e Louisa entraram em casa pela porta dos fundos. Enquanto seguiam o corredor para a sala da frente, Cotton parou, o olhar atravessando a porta semi-aberta do quarto onde Amanda jazia na cama. — O que dizem os médicos? — perguntou ele. — Trau...ma men...tal. — Louisa formara devagar as estranhas palavras. — Foi o que a
enfermeira disse que era. Foram até a cozinha e sentaram-se em cadeiras retas de carvalho, trabalho de carpinteiro, a madeira lembrando vidro de tão lixada e aplainada. Cotton tirou uns papéis da pasta e puxou seus óculos de aro fino do bolso. Depois de colocá-los, examinou por um instante os documentos e se recostou, preparado para discuti-los. Louisa serviu-lhe uma xícara de café muito forte. Cotton tomou um gole e sorriu. — Quem não acordar com um café desses é porque já morreu. — Então — disse Louisa enchendo a própria xícara —, o que descobriu com aqueles sujeitos? — Seu neto não deixou um testamento, Louisa. Não que isso importe muito, pois ele também não tinha dinheiro. — com toda aquela escrita tão boa? — Louisa parecia perplexa, mas Cotton abanou a cabeça. — Por mais incríveis que fossem — disse —, os livros não vendiam assim tão bem. Ele tinha sempre de escrever alguma coisa por fora para fazer as contas fecharem. Além disso, Oz teve problemas de saúde quando nasceu. Foram despesas muito altas. E a vida em Nova York não é exatamente barata. — E isso não é tudo — disse Louisa baixando os olhos e enfrentando o olhar curioso do advogado. — Jack me mandou dinheiro todos esses anos, realmente mandou. Uma vez eu lhe escrevi, disse que não era justo ele ficar fazendo isso a vida inteira. Afinal, tinha sua própria família. Mas ele disse que era rico. Foi o que me disse! Queria que eu aceitasse o dinheiro, pois achava que eu tinha feito muito por ele. Mas na realidade eu não fiz nada. — Bem, parece que Jack estava planejando escrever para um estúdio de cinema na Califórnia quando o acidente aconteceu. — Califórnia? — Louisa disse a palavra com se fosse uma coisa maligna; depois se recostou e suspirou. — Sei como aquele menino se importava comigo. Mas me dar um dinheiro que não tinha! Maldita seja eu por ter aceito! — Olhou um instante para longe antes de continuar. — Estou com um problema, Cotton. Os últimos três anos foram de seca e as colheitas não vieram. Só fiquei com cinco porcos e logo vou ter de matar um deles. O que vai me deixar com três porcas e um macho. A última cria deu uns porquinhos de nada. Tenho também três vacas leiteiras razoáveis. Uma está prenha, mas ainda não soltou o bezerro, o que está me deixando muito preocupada. E Bran tem a febre. As ovelhas têm me dado mais preocupação que qualquer outra coisa. E aquela velha égua num faz mais trabalho nenhum, embora continue comendo tudo que eu tenho. Bem, não há dúvida de que a moça passou todos esses anos morrendo de trabalhar para mim. — Ela fez uma pausa e respirou fundo. — E o McKenzie lá embaixo na loja não está mais vendendo fiado para nós aqui em cima. — É uma época difícil, Louisa, não há como negar. — Sei que não posso me queixar de nada. Esta velha montanha ficou anos me dando tudo o que podia. — Bem — disse Cotton se inclinando para a frente —, a única coisa que você continua tendo, Louisa, é a terra. Claro, há uma dívida... — Não posso vender, Cotton. No momento devido, isto vai passar para Lou e para Oz. O pai deles gostava deste lugar tanto quanto eu. E Eugene também gosta. Ele é minha família. E um homem que trabalha muito. Tem de ficar com uma parte desta terra para que possa ter um canto, criar uma família. E apenas justo. — Também acho que sim — disse Cotton. — Quando o pessoal escreveu perguntando se eu não ficaria com as crianças, como podia
dizer que não? A família de Amanda se foi, e agora eles só têm a mim. Mas sou uma pobre tábua de salvação porque meu corpo já não presta para o trabalho na roça. — Os dedos se juntaram nervosos e ela espiou pela janela. — Andei pensando neles todos esses anos, me perguntando como seriam. Lendo as cartas de Amanda, vendo as fotos que ela mandava. Sempre me gabando com orgulho do que Jack fazia. E dos lindos filhos dele. — Ela soltou um suspiro aflito, as rugas se cavando pela testa comprida como pequenos sulcos num campo. — Tudo tem jeito, Louisa — disse Cotton. — Se precisar de mim para alguma coisa, é só pedir. Posso vir ajudá-la com a plantação, as crianças, é só dizer. Eu ficaria muitíssimo satisfeito em apoiá-la. — Vamos lá, Cotton, você é um homem ocupado. — As pessoas aqui não têm muita necessidade de gente como eu. E talvez isto não seja ruim. Se têm um problema, descem até o fórum e simplesmente falam com o juiz Atkins. Advogados só complicam as coisas. — Cotton sorriu e bateu na mão dela. — Tudo vai ficar bem, Louisa. Foi ótimo essas crianças terem vindo morar com você. Vai ser bom para todos. A princípio Louisa sorriu, mas sua expressão foi lentamente ficando séria. — Cotton, Diamante diz que há uns homens rondando pelas minas de carvão. Não gosto disso. — Topógrafos, técnicos em minerais, assim ouvi dizer. — Será que não estão abrindo as montanhas depressa demais? Me sinto mal cada vez que vejo outro buraco. Nunca negociei nada com esse pessoal do carvão. Eles arrancam e jogam fora tudo que é bonito. — Ouvi dizer que estão procurando petróleo, não carvão. — Petróleo! — exclamou ela muito espantada. — Isto não é o Texas. — Foi o que ouvi dizer. — Não leve a sério um absurdo desses. — Ela se levantou. — Mas tem razão, Cotton, tudo vai ficar bem. O Senhor vai nos dar a chuva deste ano. Senão, bem, senão penso em alguma outra coisa. Ao se levantar para sair, Cotton olhou de novo para o corredor. — Se importa, Louisa, se eu passar pelo quarto para cumprimentar a Sra. Amanda? Louisa refletiu um pouco. — Pode ser bom para ela ouvir outra voz. E você é um sujeito simpático, Cotton. Não sei como ainda não se casou. — Ainda tenho de encontrar a boa mulher capaz de aturar um temperamento como o meu. Ao entrar no quarto de Amanda, Cotton largou a pasta, o chapéu e se aproximou em silêncio da cama. — Sra. Cardinal, sou Cotton Longfellow. É realmente um prazer conhecê-la. Aliás, é como se já a conhecesse há muito tempo, pois Louisa me leu algumas cartas que mandou. Amanda, é claro, não mexeu um único músculo, e Cotton olhou para Louisa. — De vez em quando falo com ela. Oz também. Mas Amanda nunca diz nada. Não mexe um único dedo. — E Lou? — perguntou Cotton. Louisa sacudiu a cabeça. — Um dia essa criança vai botar para fora tudo que está guardando lá dentro. — Louisa, pode ser uma boa ideia trazer o Travis Barnes, de Dickens, para dar uma olhada em Amanda.
— Médicos custam dinheiro, Cotton. — Travis me deve um favor. Ele virá. — Obrigado — disse Louisa em voz baixa. Cotton deu uma olhada no quarto e reparou que havia uma bíblia em cima da cômoda. — Posso voltar? — ele perguntou e Louisa encarou-o com ar curioso. — Quem sabe eu não poderia, bem, não poderia ler para ela. Estimulação mental. Já ouvi falar. Não há garantias. Mas se não puder fazer mais nada, pelo menos posso ler. Antes que Louisa tivesse tempo de responder, Cotton olhou para Amanda. — Será um grande privilégio ler para a senhora. CAPÍTULO CATORZE Quando a aurora surgiu, Louisa, Eugene, Lou e Oz se achavam num dos campos. Hit, a mula, estava presa no balancim de um arado com uma roda metálica. No café da manhã, Lou e Oz já tinham tomado seu leite com broa de milho com melado. A comida era boa, enchia a barriga e comer à luz de lampião já se tornara coisa comum. Oz tinha apanhado os ovos das galinhas enquanto Lou, sob o olhar atento de Louisa, ordenhara as duas vacas saudáveis. Eugene cortara lenha; Lou e Oz a tinham levado para o fogão e depois carregado baldes d'água para dar aos animais. A criação fora reunida e a forragem servida. Mas só agora, ao que parecia, o verdadeiro trabalho ia começar. — Vamos passar o arado em todo esse campo — disse Louisa. — Que cheiro horrível é esse? — Lou farejava ao redor. Louisa se curvou, pegou um pouco de terra e esmagou-a entre os dedos. — Esterco. Quando encontrar nas baias, traga para cá. Torna o solo ainda mais fértil. — Como fede — disse Lou. Olhando atentamente para a menina, Louisa abriu a mão e deixou os grãos de terra rodopiarem na brisa da manhã. — Logo estará adorando esse cheiro. Eugene começou a empurrar o arado com Louisa e as crianças caminhando a seu lado. — Isto é um arado a disco — disse Louisa apontando para o estranho disco de metal. — Você vira essa ponta, abre, prende a mula e ara o terreno. Depois abre de novo, afrouxa o animal e abaixa a ponta. O disco abre sulcos dos dois lados. Ele também tira do caminho as pedras de terra. Então, depois que aramos, batemos a roça para esfarelar os torrões. Depois passamos a grade, deixando a terra realmente fofa. Por fim usamos o que chamamos de carrinho. Ele faz carreiras finas. Aí plantamos. Louisa mandou Eugene arar uma fileira para mostrar como era; depois bateu com o pé no arado. — Você parece bem forte, Lou. Não quer experimentar? — Claro — disse ela. — Vai ser fácil. Eugene colocou-a na posição certa, pôs os arreios em volta de sua cintura, entregou-lhe o chicote e deu um passo atrás. Hit aparentemente encarou-a como uma boa mudança, pois arrancou com inesperada rapidez. A forte Lou muito rapidamente sentiu o gosto do solo fértil. Quando a suspendeu e limpou seu rosto, Louisa fez um comentário: — Desta vez, a velha mula levou a melhor. Faça com que não aconteça no próximo assalto. — Não quero fazer mais isto — disse Lou, escondendo o rosto na manga, a cabeça se enchendo de um monte de coisas em que não queria pensar. Seu rosto ficara vermelho, e lágrimas
despontavam embaixo das sobrancelhas. Louisa se ajoelhou na frente dela. — Da primeira vez que seu papai tentou arar, ele tinha a sua idade. A mula levou-o numa carreira que acabou muito mal. Demorei quase um dia inteiro para tirar seu pai e o maldito animal do barranco. Jack disse a mesma coisa que você. E decidi deixá-lo cumprir a palavra. Lou parou de esfregar o rosto e os olhos secaram. — E o que aconteceu? — Durante dois dias ele nem chegou perto dos campos. Muito menos da mula. E então, numa bela manhã, quando comecei a trabalhar, lá estava ele. — E arou todo o campo? — perguntou Oz. Louisa balançou a cabeça. — A mula e seu pai acabaram mergulhando no chiqueiro. A lavagem que saiu dos dois daria para sufocar um urso. Oz e Lou riram e Louisa continuou: — Na vez seguinte, o menino e a mula chegaram a um acordo. O garoto tinha levado um castigo e a mula se divertido. A partir daí, os dois formaram a melhor dupla de arado que já vi. Do outro lado do vale, veio o som de uma sirene. Era tão alto que Lou e Oz taparam os ouvidos. A mula resfolegou e se sacudiu nos arreios. Louisa franziu a testa. — O que é? — perguntou Lou gritando. — A sirene da mina de carvão — disse Louisa. — Será que houve um desmoronamento? — Não, mas fiquem quietos — disse Louisa, os olhos esquadrinhando as encostas. Cinco minutos nervosos se passaram e a sirene finalmente parou. E então, de todos os lados veio um ronco baixo. Mas um ronco que foi crescendo em volta deles como um barulho de avalanche. Lou achou que podia ver as árvores, até a montanha, tremerem. Agarrou a mão de Oz e pensou em correr, mas não o fez porque Louisa não tinha se mexido. E de repente o silêncio voltou. — O pessoal da mina toca a sirene antes de cada explosão — disse Louisa se virando para eles. — Usam dinamite. Às vezes usam demais e acabam provocando deslizamentos. O resultado é gente ferida. Não mineiros. Sitiantes trabalhando a terra. — Louisa fez novamente cara feia na direção de onde parecia ter vindo a explosão e todos voltaram ao trabalho. No jantar, havia travessas fumegantes de feijão-fradinho ao lado de broas de milho, banha de porco e leite, tudo lavado com uma água de nascente tão gelada que machucava. A noite estava meio fria, com o vento uivando alto e atacando a construção. As paredes e o telhado, no entanto, resistiam bem. As brasas da lareira aqueciam, e a luz do lampião não machucava os olhos. Oz estava tão cansado que quase adormeceu em cima de seu prato da aveia Crystal Winters, um prato da cor do céu. Depois do jantar, Eugene foi até o celeiro, enquanto Oz ficou parado na frente do fogo, o corpinho obviamente dolorido e exausto. Louisa viu Lou se aproximar do irmão, pôr a cabeça dele no colo e acariciar-lhe o cabelo. Cobrindo os olhos com óculos de aro de ferro, Louisa pegou uma camisa e começou a remendá-la junto à lareira. Pouco depois, parou e sentou-se ao lado das crianças. — Ele só está cansado — disse Lou. — Não está acostumado a isso. — Talvez ninguém consiga se acostumar de todo a um trabalho duro. — Louisa também fez carinho no cabelo de Oz. Era como se o garotinho tivesse uma cabeça que as pessoas gostassem de tocar. Talvez para dar sorte. — Estão fazendo um bom trabalho. Realmente bom. Melhor do que eu quando era nova. E olhe que não vim de uma cidade grande. Isso torna as coisas mais difíceis, não é? A porta se abriu e o vento penetrou na casa. Eugene parecia preocupado.
— O bezerro vai nascer. No celeiro, uma vaca chamada Purty estava deitada de lado numa grande baia, arfando e se contorcendo de dor. Eugene se ajoelhou e a segurou, enquanto Louisa colocou-se atrás dela e sondoua com os dedos, procurando o volume meloso de um novo bezerro emergindo. Uma árdua batalha, pois o bezerro ainda não parecia disposto a entrado mundo. Eugene e Louisa, porém, acabaram conseguindo persuadi-lo. Era uma massa escorregadia de membros ao redor de olhos muito apertados. O evento tinha sangue e os estômagos de Lou e Oz deram outra reviravolta quando Purty comeu a placenta, embora Louisa tenha lhes dito que isso era normal. Purty começou a lamber o bebê e só parou quando o pêlo já estava colado por todo o corpo. com a ajuda de Eugene, o bezerro se equilibrou nas pernas finas e trôpegas, enquanto Louisa ajudava Purty a se colocar em posição para a etapa seguinte, uma etapa que o novilho inaugurou com a mais natural das atitudes: mamar. Eugene continuou ao lado da mãe e do filhote enquanto Louisa e as crianças voltavam para casa. Lou e Oz estavam agitados, mas também exaustos, e o relógio da bisavó mostrava que já era quase meia-noite. — Eu nunca tinha visto uma vaca nascer — disse Oz. — Você nunca tinha visto nada nascer — disse a irmã. Oz pensou naquilo. — Sim, tinha visto. Estive lá quando eu nasci. — Isso não conta — revidou Lou. — Bem, devia contar — contra-atacou Oz. — Deu muito trabalho. Mamãe me disse. Louisa pôs outra pedra de carvão no fogo, atiçou as chamas com um garfo de ferro e recostou-se para remendar. As mãos cheias de veias pretas e calombos moviam-se devagar, mas com precisão. — Agora vão para a cama, vocês dois — disse ela. — Primeiro vou ver a mamãe — disse Oz. — Contar sobre a vaca. — Olhou para Lou. — Minha segunda vez. — Ele se afastou. A irmã não mostrou nenhuma disposição de sair de perto do calor do fogo. — Lou, vá ver sua mãe também — disse Louisa. Lou cravou os olhos no fundo do carvão em brasa. — Oz é novo demais para entender, mas eu não. Louisa pousou a blusa que estava remendando. — Entender o quê? — Os médicos em Nova York disseram que a cada dia haveria menos chance da mamãe voltar a si. Agora já se passou muito tempo. — Mas não se pode perder a esperança, querida. Lou se virou para olhá-la. — Você também não entende, Louisa. Nosso pai morreu. Eu o vi morrer. Talvez... — Lou engoliu com dificuldade —, talvez tenha morrido parcialmente por minha causa. — Ela esfregou os olhos e depois seus punhos começaram a se fechar. Não é como se mamãe estivesse deitada se recuperando. Prestei atenção no que os médicos disseram. Ouvi tudo que os adultos disseram sobre ela, embora eles tentassem esconder de mim. Como se não fosse da minha conta! Nos deixaram levá-la para casa porque não podiam fazer mais nada. — Lou fez uma pausa, respirou fundo e foi aos poucos se acalmando. — E você não conhece Oz. Ele mantém suas esperanças num nível tão alto que começa a fazer coisas malucas. E depois... — A voz de Lou fraquejou; ela baixou os olhos. — A gente se vê de manhã. Sob a luz fraca do lampião e o tremular do fogo da lareira, Louisa ficou observando a menina
se afastar. Quando os passos cessaram, ela tornou a pegar no remendo, mas a agulha não se mexeu. Eugene entrou, foi dormir e Louisa continuou lá, o fogo cada vez mais fraco, os pensamentos a absorvendo como ela se deixava absorver contemplando as montanhas. Daí a pouco, no entanto, Louisa se levantou e foi para o quarto, onde tirou da cômoda um pequeno maço de cartas. Subiu a escada que levava ao quarto de Lou e encontrou a menina bem acordada, fitando a janela. Lou se virou e viu as cartas. — O que é? — Cartas que sua mãe me escreveu. Quero que as leia. — Por quê? — Porque as palavras dizem muito sobre uma pessoa. — As palavras não alteram nada. Oz, se quiser, que tenha esperanças. Que continue mal informado. Louisa pôs as cartas na cama. — Às vezes as pessoas mais velhas deviam seguir as mais jovens. Talvez aprendessem alguma coisa. Depois que Louisa saiu, Lou guardou as cartas na antiga escrivaninha do pai e fechou, com toda a firmeza, a gaveta.
CAPÍTULO QUINZE Lou se levantou particularmente cedo e entrou no quarto da mãe, onde, por um instante, contemplou o sobe-e-desce regular de seu peito. Depois se inclinou sobre a cama, puxou as cobertas e começou a massagear os braços e a mudá-los de posição. Também ficou um bom tempo exercitando as pernas de Amanda como os médicos de Nova York haviam ensinado. Estava acabando quando viu Louisa parada na porta a observá-la. — Temos de cuidar de seu conforto — explicou Lou, cobrindo a mãe e indo para a cozinha. Louisa foi atrás. — Eu faço isso, querida — disse Louisa quando Lou pôs uma vasilha para ferver. — Já estou fazendo. — Lou misturou alguns flocos de aveia na água quente e acrescentou a manteiga tirada de uma cuba onde também havia toucinho. Levou a vasilha para o quarto da mãe, mergulhou a colher no caldo e aproximou-a com cuidado da boca de Amanda. A mãe comia e bebia o que lhe davam, bastando uma colher ou uma xícara encostar em seus lábios. Só conseguia, no entanto, digerir comida mole. Era o máximo que podia fazer. Louisa sentou-se ao lado delas e Lou apontou para as velhas fotos na parede. — Quem são essas pessoas? — Meu pai e minha mãe — respondeu Louisa. — Essa sou eu quando era apenas uma fedelha. Uma parte da família de minha mãe também está nesta fotografia. Foi a primeira vez que saí num retrato. Gostei. Mas minha mãe ficou assustada. — Ela apontou para outra foto. — Esse retrato aqui é do meu irmão Robert. Já morreu. Todos eles já morreram. — Seus pais e seu irmão eram altos. — Era o normal na família. Mas é engraçado como as marcas têm sido ultrapassadas. Aos catorze anos, seu pai já tinha um metro e oitenta. Sou alta, mas fico abaixo dos que vieram depois. Você também vai ser grande. Lou lavou a vasilha, a colher e depois ajudou Louisa a preparar o café da manhã. Eugene já estava no celeiro e Oz fazia barulho no quarto. — Preciso — disse Lou — ensinar o Oz a mexer os braços e as pernas da mamãe. E ele também pode ajudar a alimentá-la. — É uma boa ideia. — Ela pousou a mão no ombro de Lou. — Me diga, já começou a ler aquelas cartas? Lou a encarou. — Não queria perder minha mãe e meu pai. Mas os perdi. Agora tenho de cuidar do Oz. Devo olhar para a frente, não para trás. — E acrescentou com firmeza: — Você pode não entender, mas é o que tenho de fazer. Depois das tarefas da manhã, Eugene atrelou a mula na carroça, levou Lou e Oz até a escola e voltou para continuar seu trabalho. Lou e Oz levaram livros escolares usados em velhas sacolas de aniagem e, dentro das páginas dos livros, enfiaram algumas folhas de precioso papel branco. Cada um tinha um grande lápis preto com ordens estritas de Louisa para só apontá-lo quando fosse absolutamente necessário e para usar uma faca bem afiada quando o fizessem. Os livros eram os mesmos em que o pai estudara, e Lou os apertava contra o peito como se fossem um presente vindo diretamente de Jesus. Também carregavam cestinhas de palha meio amassadas com bons pedaços de broas de milho, além de um vidrinho com geleia de maçã e uma garrafinha de leite, tudo para a hora do recreio. A escola Pinheiro Grande tinha apenas alguns anos de idade. Fora construída com dólares do New Deal para substituir o barracão de toras que, durante quase oitenta anos, havia existido naquele
lugar. O novo prédio era de madeira branca com janelas de um dos lados e tinha um alicerce de pedras. Como na casa de Louisa, o telhado não tinha telhas, só uma "coberta" formada de compridas placas de madeira fixadas em diferentes seções de uma armação. Havia uma única porta de moldura estreita e a chaminé de tijolos atravessava um teto em forma de A. Em qualquer dia, o número de alunos mal atingia a metade dos que deviam estar ali, o que sem dúvida era uma quantidade elevada, comparada ao nível de frequência do ano anterior. Nas montanhas, a lida no campo sempre parecia mais importante que o aprendizado nos livros. O pátio da escola era de terra, com uma nogueira de tronco fendido no centro. Cerca de cinquenta crianças, numa escala que ia da idade de Oz à idade de Lou, se agrupavam do lado de fora. A maioria trajava calças compridas, embora algumas meninas usassem vestidos estampados feitos de sacos Chop, isto é, sacos de cinquenta quilos de ração para animais. Eram sacos bonitos, fabricados com material resistente, e uma menina sempre se sentia muito especial vestida com um traje "Chop". Algumas crianças estavam descalças, outras usavam coisas que já tinham sido sapatos mas que haviam se transformado numa espécie de sandálias. Viam-se crianças com chapéus de palha, outras sem chapéu; alguns meninos mais velhos chegavam a ostentar sujos chapéus de feltro, que sem dúvida tinham sido dos pais. Certas garotas gostavam de rabos-de-cavalo, outras usavam o cabelo curto, outras, ainda, tinham uma ponta de cabelo numa trancinha. As crianças viraram para os recém-chegados olhos que Lou não considerou amigáveis. Um garoto deu um passo à frente. Lou reconheceu-o como o que vinha pendurado no trator que havia passado por eles no dia em que chegaram. Provavelmente, era filho de George Davis, o maluco que os ameaçara com a espingarda nos bosques. Lou se perguntou se a prole do sujeito também não sofreria de insanidade. — Qual é o problema, não sabem andar? — perguntou. Diabo-Não tinha de vir trazê-los? — Ele se chama Eugene — disse Lou encarando o garoto. Depois perguntou: — Será que alguém pode me dizer onde ficam as salas da segunda e da sexta série? Como não! — disse o mesmo menino, apontando. — AS duas ficam bem ali. Lou e Oz se viraram e viram o anexo de lambris atrás do prédio da escola. — Claro — o garoto acrescentou com um sorriso furtivo —, são salas só para ianques como vocês. Isto fez toda a montanha de crianças começar a gritar e a rir. Nervoso, Oz se aproximou um passo de Lou. Ela examinou um instante o anexo e voltou a olhar para o rapaz. — Qual é o seu nome? — perguntou. — Billy Davis — disse ele orgulhoso. — É sempre assim tão esfuziante, Billy Davis? — O que está querendo dizer? — Billy fechou a cara. Está me xingando, garota? — E você também não quis nos xingar? — Não disse nada além da verdade. Uma vez ianque, ianque até morrer. Vir para cá não muda nada. A turma de rebeldes vociferou uma completa concordância com este ponto de vista, fazendo Lou e Oz se sentirem cercados pelo inimigo. Só foram salvos pelo toque do sino da escola, que fez as crianças dispararem para o prédio. Lou e Oz se entreolharam e seguiram atrás da multidão. — Acho que não gostam muito de nós, Lou — disse Oz. — Acho que não me importo muito com isso — respondeu a irmã. Descobriram de imediato que só havia uma sala de aula. Ela servia a todas as séries, da primeira à sétima, ficando os alunos separados em grupos distintos conforme a idade. O número de professoras era igual ao número de salas de aula. O nome dela era Estelle McCoy e ganhava
oitocentos dólares por ano escolar. Fora este o único emprego que Estelle, aproximando-se agora dos trinta e nove anos, tivera em toda a sua vida, o que explicava por que o cabelo estava muito mais branco que castanho-escuro. Grandes quadros-negros cobriam três paredes. Num canto, havia uma grande estufa de ferro, com seu longo cano subindo para o teto. E ocupando outro canto da sala, parecendo bastante deslocada naqueles confins, via-se uma estante com um topo arqueado, belamente trabalhada em madeira de lei. Atrás das portas envidraçadas, Lou pôde ver alguns livros. Na parede ao lado da estante, uma tabuleta escrita à mão dizia: "biblioteca". Estelle McCoy parou na frente da turma com faces salientes, sorriso largo e o vulto gordinho enrolado num vestido muito florido. — Hoje tenho uma verdadeira novidade para todos vocês. Gostaria de apresentar dois novos alunos: Louisa Mae Cardinal e seu irmão, Oscar. Louisa Mae e Oscar, querem, por favor, ficar de pé? Como alguém que rotineiramente se curvava ao menor exercício de autoridade, Oz ficou imediatamente em pé. Permaneceu, contudo, olhando para o chão, trocando os pés de lugar, como se algo o estivesse incomodando muito. Louisa, porém, não se levantou. — Louisa Mae — disse novamente Estelle McCoy —, fique de pé, querida, para que a turma possa vê-la! — Meu nome é Lou. — Sim, hum... — O sorriso de Estelle McCoy perdeu um pouco de carga —, o pai deles foi um escritor muito famoso, chamado Jack Cardinal. Nesse momento, Billy Davis se intrometeu em voz alta: — Morreu, não foi? Alguém já tinha me dito que o homem havia morrido. Lou olhou ferozmente para Billy, que reagiu fazendo uma careta. A professora parecia agora completamente atrapalhada. — Billy, por favor! — disse ela. — Ha, como eu estava dizendo, ele era famoso e fui sua professora. Mesmo de uma forma modesta, espero ter tido alguma influência no seu desenvolvimento como escritor. Realmente se diz que os primeiros anos de escola são os mais importantes. Vocês sabiam que o sr. Jack Cardinal chegou a autografar um de seus livros em Washington, para o presidente dos Estados Unidos? Ao olhar em volta da sala, Lou percebeu que aquelas palavras não tinham o menor significado para as crianças das montanhas. E, sem dúvida, mencionar a capital da "nação ianque" não seria uma coisa esperta para se fazer ali. Mas não ficou aborrecida ao ver que ninguém estava exatamente prestando reverência às realizações do pai; ficou, ao contrário, com pena da ignorância deles. Estelle McCoy estava mal preparada para o prolongado silêncio. — Ha, bem, seja bem-vinda, Louisa Mae, e você também Oscar. Tenho certeza que deixarão seu pai orgulhoso estudando aqui, em sua... alma mater. Nesse momento, Lou se levantou enquanto Oz rapidamente se deixava cair na cadeira, cabeça baixa, olhos muito pouco abertos. Era como se tivesse medo do que a irmã ia fazer. Lou nunca tomava atitudes de forma discreta, Oz sabia disso. Era apontar dois canos de espingarda ou dar mais vinte e quatro horas de vida. Raramente havia um meio-termo. E, no entanto, tudo que ela disse foi: — Meu nome é Lou. Depois se sentou. — Bem-vinda à serra, dona Louisa Mae — disse Billy se inclinando para ela. A aula terminou às três e as crianças não correram para casa, onde certamente só encontrariam novas tarefas a cumprir. Permaneceram no pátio da escola, formando rodinhas. Os meninos negociavam canivetes, ioiôs feitos de madeira e pedaços de fumo de mascar. As meninas trocavam boatos locais, segredos de costura e culinária e falavam sobre os garotos. Billy Davis se
pendurou numa corda estendida entre os galhos mais baixos da nogueira ante o olhar admirado de uma menina. Ela tinha dentes tortos, mas grandes quadris, faces rosadas e bonitos olhos azuis. Quando Lou e Oz saíram, Billy interrompeu a exibição e foi ao encontro deles. — Ora, mas é dona Louisa Mae! A senhora também vai estar com o presidente, dona Louisa Mae? — disse em voz alta e zombeteira. — Continue andando, Lou — disse Oz —, por favor. Billy falou ainda mais alto. — Quem sabe ele não pede para a senhora autografar outro livro de seu papai, já que ele está morto e enterrado? Lou parou. Oz, sentindo que seria inútil continuar pedindo qualquer coisa à irmã, recuou um passo. Lou se virou para seu algoz. — Qual é teu problema, caipira boboca? Chateado porque nós, ianques, te demos um pontapé no rabo? As outras crianças, sentindo cheiro de sangue, fizeram uma roda silenciosa para proteger dos olhos da Sra. McCoy uma briga que prometia ser boa. — É melhor retirar o que disse. — Era Billy, de cara feia. Lou pousou a sacola. — Por que não tenta me bater, se acha que pode? — Droga, eu não bato em mulher. Isto deixou Lou mais furiosa do que se tivesse levado um soco. Ela agarrou Billy pelos suspensórios e atirou-o no chão, onde ele ficou paralisado, espantado tanto pela energia quanto pelo atrevimento da menina. A rodinha de gente chegou mais perto. — vou lhe dar um chute no traseiro se você não retirar o que disse! — Lou tinha se debruçado sobre ele e enfiado um dedo em seu peito. Oz puxou-a enquanto a garotada estreitava o cerco, como a mão de alguém se transformando num punho cerrado. — Vamos embora, Lou, por favor, não brigue! Por favor. Billy se levantou e resolveu levar mais adiante o ataque. Em vez de se aproximar de Lou, agarrou Oz e atirou-o com força no chão. — Não gosto do cheiro de gente do Norte. Seu olhar de triunfo teve vida curta, pois sentiu o gosto do ossudo punho direito de Lou. Billy tornou a cair no chão, agora juntando-se a Oz, o sangue jorrando do nariz. Lou estava sobre Billy antes que ele pudesse respirar, ambos os punhos golpeando. Uivando como um cachorro surrado, Billy revidava brandindo freneticamente os braços. Um dos golpes acertou Lou no lábio, mas ela continuou socando Billy até ele parar de reagir e cobrir o rosto. Então o mar se abriu e a Sra. McCoy se derramou pela fenda. Conseguiu tirar Lou de cima de Billy, não sem um esforço que a deixaria bastante ofegante. — Louisa Mae! — disse. — O que seu pai pensaria se visse uma coisa dessas? O peito de Lou subiu e desceu com energia, as mãos ainda transformadas em poderosos instrumentos de golpear garotos. Estelle McCoy ajudou Billy a se levantar. O menino cobriu o rosto com a manga da camisa e tentou abafar os soluços nas axilas. — Agora peça desculpas ao Billy. A resposta de Lou foi se virar e partir de novo para cima do garoto. Billy saltou para trás. Era como um coelho na frente de uma cobra disposta a comê-lo. A Sra. McCoy puxou com força o braço de Lou. — Louisa Mae, pare já com isso e peça desculpas! — Que ele vá pró raio que o parta! Parecia que Estelle McCoy ia desmaiar ante o linguajar da filha do famoso escritor. — Louisa Mae! Que boca! com um solavanco, Lou se livrou da professora e correu como o vento pela estrada. Billy fugiu na direção oposta. Estelle McCoy ficou parada, de mãos abanando, no
campo de batalha. Esquecido em tudo isso, Oz se levantou em silêncio, pegou a sacola da irmã, sacudiu-a para tirar o pó e foi se agarrar na saia da professora. Ela baixou os olhos para o menino. — A senhora me desculpe — disse Oz —, mas ela se chama Lou. CAPÍTULO DEZESSEIS Louisa limpou o corte no rosto de Lou com água e sabão de coco. Depois aplicou uma tintura doméstica que ardia como fogo, mas Lou passou pela prova sem piscar. — Nunca imaginei, Lou, que as aulas fossem começar desse jeito. — Nos chamaram de ianques! — Oh, meu Deus! — disse Louisa simulando um ar de ofendida. — Isto não é mesmo terrível? — E ele bateu no Oz. A expressão de Louisa se abrandou. — Precisam ir à escola, querida. Precisam se dar melhor com os outros. Lou franziu a testa. — E por que eles não se dão conosco? — Porque nasceram aqui. Agem assim porque vocês são diferentes de todo mundo que conhecem. Lou se levantou. — Não sabe como é sentir-se uma forasteira. — Ela correu para a porta, enquanto Louisa a olhava, balançando a cabeça. Oz esperava pela irmã na varanda da frente. — Pus sua sacola no quarto — disse ele. Lou se sentara na escadinha e pousara o queixo nos joelhos. — Estou bem, Lou. — Oz se levantou, rodou em círculo para comprovar o que estava dizendo, e quase caiu da varanda. — Vê, ele não me machucou nada! — Sei disso, senão eu teria batido nele com força. Oz observou com atenção o corte no lábio. — Está doendo muito? — Nem um pouco. Incrível, esses garotos dos montes podem ser capazes de arar os campos e tirar leite das vacas, mas decididamente não são bons de briga. Ergueram os olhos quando o Oldsmobile de Cotton parou na frente da casa. Cotton saltou trazendo um livro embaixo do braço. — Fiquei sabendo de sua pequena aventura hoje na escola — disse ele ao se aproximar. — Puxa, foi rápido! — Lou parecia surpresa. — Aqui em cima — disse Cotton, sentando na escada ao lado deles —, quando acontece uma boa briga, as pessoas movem céus e terra para espalhar a notícia. — Nem chegou a ser uma briga — disse Lou orgulhosa. — Billy Davis apenas se encolheu e berrou como um bebê. — Ele cortou a boca da Lou — acrescentou Oz —, mas nem está doendo. — Nos chamaram de ianques — disse ela —, como se fosse uma espécie de doença. — Bem, se isso a fizer se sentir melhor, também sou ianque. De Boston. E me aceitaram aqui. Bem, pelo menos a maioria deles. Os olhos de Lou se arregalaram quando ela fez a conexão e quando se perguntou por que não percebera antes. — Boston? Seu nome é Longfellow. Você... — Henry Wadsworth Longfellow era o bisavô de meu avô. Acho que é o modo mais fácil de
explicar. — Henry Wadsworth Longfellow. Puxa! — É, puxa! — disse Oz, embora não fizesse a menor ideia de quem se tratava. — Sim, puxa. Desde criança eu queria ser escritor. — Bem, por que não é? — perguntou Lou. Cotton sorriu. — Embora eu seja capaz de apreciar melhor do que a maioria das pessoas um texto inspirado e bem construído, fico absolutamente paralisado quando tento eu mesmo escrever. Talvez seja por isso que vim para cá depois de conseguir um diploma em direito. Para ficar o mais longe possível da Boston de Longfellow. Não sou um advogado muito brilhante, mas dou para o gasto. E isso me dá tempo para ler aqueles que sabem escrever bem. — Ele limpou a garganta e recitou num tom agradável: Penso, frequentemente, na bela cidade que fica junto ao mar; frequentemente, em pensamento, costumo subir e descer... — As ruas simpáticas da velha, querida cidade. — Lou pegara o verso. — E recupero, então, a juventude. — Sabe citar Longfellow? — Cotton parecia impressionado. — Era um dos favoritos de meu pai. — E este é um dos meus favoritos. — Ele mostrou o livro que estava carregando. Lou deu uma olhada. — É o primeiro romance que meu pai escreveu. — Você já leu? — Papai leu parte dele para mim. A mãe perde o filho único e acha que ficou completamente sozinha. É muito triste. — Mas é também uma história purificante, Lou. De alguém ajudando outra pessoa. — Fez uma pausa. — vou ler este livro para sua mãe. — Papai já leu para ela todos os livros que escreveu disse Lou friamente, e Cotton percebeu o que acabara de fazer. — Lou, não estou querendo tomar o lugar de seu pai. — E era um escritor de verdade. — Ela se levantou. Não tinha de andar por aí dizendo as palavras de outras pessoas. Cotton também se levantou. — Tenho certeza que seu pai, se estivesse aqui, ia lhe dizer que não faz mal algum repetir as palavras de outra pessoa. Que, na realidade, é uma prova de respeito. E tenho o maior respeito pelo talento de seu pai. — Acha que isso pode ajudar? — perguntou Oz. — Ler para ela? — Perca seu tempo se quiser. — Lou começou a se afastar. — Pra mim tudo bem, se quiser ler pra ela — comentou Oz. Cotton apertou a mão do garoto. — Muito obrigado pela permissão, Oz. vou fazer o melhor possível. — Ande, Oz, temos as nossas tarefas — gritou Lou. Quando Oz saiu correndo, Cotton olhou para o livro que carregava e entrou na casa. Louisa estava na cozinha. — Veio ler para Amanda? — perguntou. — Bem, era o que estava pensando, mas Lou deixou claro que não quer que eu faça leituras dos livros do pai. Talvez tenha razão. Louisa olhou pela janela e viu Lou desaparecer com Oz no celeiro. — Escute bem, tenho um monte de cartas que Jack me escreveu durante anos. Gosto muito das que me mandava da universidade. Ele usa algumas palavras lindas que não sei o que querem dizer, mas ainda assim as cartas me agradam. Porque não lê essas cartas para Amanda? Escute,
Cotton, a meu ver o importante não é exatamente o que as pessoas lêem para ela. Acho que o melhor que podemos fazer é passar algum tempo com ela, fazê-la entender que não perdemos a esperança. — É uma mulher sábia, Louisa. — Cotton sorriu. — Acho a ideia ótima. Lou carregou o balde de carvão para dentro e encheu o depósito ao lado da lareira. Depois foi na ponta dos pés pelo corredor e prestou atenção. Murmúrios de uma voz solitária passaram por ela. Lou correu para fora e, ao ver o carro de Cotton, foi finalmente mordida pelo mosquito da curiosidade. Disparando pelo lado da casa, ela se colocou sob a janela do quarto da mãe. A janela estava aberta, mas era alta demais para se ver lá dentro. Ficou na ponta dos pés, mas não adiantou. — Ei, você! Ela girou e deparou com Diamante. Agarrou, então, o braço do menino e puxouo para longe da janela. — Não devia andar sorrateiramente atrás das pessoas. — Desculpe — disse ele sorrindo. Lou reparou que Diamante tinha alguma coisa escondida nas costas. — O que tem aí? — Onde? — Aí, Diamante, bem atrás de você. — Oh, isso! Bem, você sabe, eu só estava andando pelo pasto e elas estavam ali, todas juntas. E juro por Deus que chamavam por você. — Quem? Diamante puxou um ramo de flores de açafrão amarelas e entregou-o a Lou. Ela ficou comovida, mas não quis, é claro, deixar transparecer. Agradeceu e deu-lhe um tapinha no ombro que o fez tossir. — Hoje não vi você na escola, Diamante. — Oh, bem. — Ele bateu no chão com um pé descalço, agarrou as pernas da calça e olhou para todo lado, exceto para Lou. — Ei, o que estava fazendo naquela janela quando apareci? — perguntou por fim. E de repente Lou esqueceu da escola. Tivera uma ideia mas, como Diamante, preferiu deixar na sombra o que haveria por trás de suas ações. — Quer me ajudar a fazer uma coisa? Alguns momentos depois, Diamante oscilava um pouco e Lou batia na cabeça dele para que ficasse imóvel. Era fácil fazer isso pois estava sentada em seus ombros espreitando o quarto da mãe. Amanda estava encostada na cabeceira da cama e Cotton lia, instalado na cadeira de balanço a seu lado. Lou notou, com surpresa, que não era o livro que havia trazido; ele estava lendo uma carta que tinha na mão. E Lou teve de admitir que a voz do homem era agradável. Cotton selecionara aquela carta dentre as que recebera de Louisa, pois a julgara particularmente adequada. Bem, Louisa, você gostará de saber que as lembranças dos montes continuam tão fortes quanto no dia de minha partida, três anos atrás. Sem dúvida, tenho muita facilidade em me transportar ao mundo das altas montanhas da Virginia. Simplesmente fecho os olhos e encontro, de imediato, muitos exemplares de amigos confiáveis espalhados aqui e ali, como livros favoritos conservados em determinados lugares. Você conhece o banco de rio onde deságua um riacho. Bem, vejo as duas correntes se juntarem e imagino que estejam compartilhando segredos uma com a outra. Então, bem na minha frente, um punhado de corças e pequenos cervos avançam pelas margens até onde os campos arados se escoram nos bosques. Aí olho para o céu e vou acompanhando o vôo irregular de inquietos corvos negros. Por fim, me concentro num falcão solitário, colado num céu platinado de azul Aquele céu. Oh, aquele céu! Quantas vezes você não me disse que sobre a montanha parece possível estender o braço e pegar o céu, guardá-lo na mão, alisá-lo como se alisa um gato sonolento e admirar seu exuberante fascínio. Sempre encarei aquele céu como uma generosa
manta, Louisa. Enrolado nela, envolto no aconchego de sua friagem, eu queria tirar uma longa soneca na sua varanda. Quando a noite cai, retomo sempre a recordação desse céu leal e seguro, como um sonho capaz de persistir até o clarão rubro do amanhecer. Também escuto sua voz me dizendo com que frequência, ao contemplara terra, você percebe que ela jamais pertencerá verdadeiramente a você, assim como uma pessoa não pode se apoderar da luz do sol ou guardar o ar que respira. Imagino, às vezes, muitos de nossa ascendência parados na porta de casa, a olhar para o mesmo chão. Mas em algum momento toda a família Cardinal acabará por desaparecer. Mesmo assim, minha cara Louisa, não há por que desanimar, pois sobrará a força da terra que se estende do início ao final do vale, o ímpeto dos rios caudalosos, a visão das encostas suaves cobertas de verde, onde aqui e ali, como fragmentos de ouro velho, despontam reflexos metálicos — tudo isto vai continuar. E nós, em nosso efêmero toque na existência eterna dessas coisas, não vamos culpá-las por terem sido feitas por Deus para durarem para sempre. Você tantas vezes me disse isso. Apesar de ter agora uma nova vida e estar gostando de boa parte do que significa viver na cidade, nunca vou esquecer que o fio das recordações é o elo mais forte na fina ponte que une as pessoas. Planejo dedicar minha vida a fortalecer exatamente este laço. E se você me ensinou alguma coisa, foi que aquilo que guardamos em nossos corações é realmente o mais vibrante componente de nossa humanidade. Ouvindo um barulho, Cotton olhou para a janela e viu uma ponta de Lou antes dela se abaixar. Leu, então, em silêncio, a última parte da carta e, em seguida, decidiu lê-la numa voz bem alta. Estaria falando tanto para a filha, que sabia estar escondida embaixo da janela, quanto para a mãe estendida na cama. E ao ver você conduzir sua vida todos esses anos com honestidade, dignidade e compaixão, percebo que não há nada mais poderoso e animador que a gentileza de um ser humano estendendo a mão para outro que está mergulhado no desespero. Penso todo dia em você, Louisa, e vou continuar pensando, pelo tempo que meu coração bater. com muito amor, Jack. De novo Lou enfiou a cabeça sobre o parapeito. E devagar, muito devagar, foi se virando até encarar a mãe. Mas não havia alteração em sua fisionomia, absolutamente nenhuma. com raiva, Lou tentou recuar da janela. O pobre Diamante estava oscilando fortemente agora, pois o impulso de Lou para longe do parapeito não favorecera seus esforços de equilíbrio. Então, ele finalmente perdeu a batalha e desmoronou com Lou, uma queda coroada com os inúmeros grunhidos e gemidos dos dois estendidos no chão. Cotton correu para a janela a tempo de ver a dupla fugir correndo pela quina da casa. Ele se virou para a mulher na cama. — Tem realmente de acordar e se juntar a nós, Sra. Amanda... — E acrescentou em voz baixa, como se tivesse medo que alguém, além dele, pudesse ouvir: — Por uma série de razões. CAPÍTULO DEZESSETE A casa estava escura; o céu era um caótico amontoado de nuvens prometendo uma boa manhã de chuva. O tempo, no entanto, com nuvens agitadas e frágeis correntes de ar se chocando contra o cume das rochas, podia mudar de repente: a chuva se transformaria em geada, o sol ficaria pastoso e as pessoas, ora molhadas, ora frias. Naquela madrugada, vacas, porcos e ovelhas estavam em segurança no celeiro, pois o Velho Mo, o puma, fora visto nas redondezas e se comentava que a fazenda Tyler perdera um bezerro e os
Ramsey um porco. Todos os moradores dos montes que possuíam um rifle ou uma espingarda andavam de olho bem aberto, ansiosos para surpreender o velho predador. Sam e Hit descansavam silenciosos em seu curral. O Velho Mo jamais atacaria a parelha. Os coices de uma mula geniosa podiam provocar a morte de qualquer coisa em questão de minutos. A porta da frente da casa se abriu e Oz, sem fazer barulho, saiu e tornou a fechá-la atrás de si. O garoto estava todo vestido e apertava com força o ursinho. Avançou depois de olhar em volta por alguns segundos, passou pelo curral, ultrapassou as hortas e mergulhou na mata. A noite era um balde de carvão, o vento sacudia os galhos das árvores, as moitas estavam cheias de movimentos furtivos e o mato alto parecia agarrar as pernas da calça de Oz. O menino tinha certeza de que regimentos de duendes estariam rondando por ali em todo o seu apavorante esplendor, sendo ele o único alvo sobre a terra. Algo, no entanto, dentro de Oz se mostrara nitidamente superior a esses horrores, pois ele nem uma só vez pensou em retroceder. Bem, quem sabe uma vez, Oz admitiu para si mesmo. Ou quem sabe duas. Correu bastante por um certo tempo, cortando lombadas, navegando por entre abismos, tropeçando na compacta selva do arvoredo. Venceu um último trecho de árvores, parou, espiou, esperou um pouco e irrompeu na pradaria. Logo à frente, viu o objetivo de sua carreira: o poço. Respirou fundo uma última vez, apertou o urso e, corajoso, caminhou direto para lá. Mas Oz não era tolo e, por via das dúvidas, não parava de sussurrar: "É um poço dos desejos, não um poço assombrado. Um poço dos desejos, não assombrado." Parou diante da borda e contemplou aquele monstrengo de tijolo unido por argamassa. Depois, cuspiu numa das mãos e esfregou-a na cabeça para dar sorte. Olhou um bom tempo para o amado urso, pousou-o devagar ao lado do poço e deu meia volta. — Até logo, urso. Gosto muito de você, mas tenho de entregá-lo. Você entende... De repente, Oz ficou em dúvida sobre os procedimentos. Por fim, fez o sinal-da-cruz e pôs as mãos juntas como se fosse rezar, imaginando que aquilo seria capaz de satisfazer os espíritos mais exigentes, os que podiam atender aos desejos de menininhos tremendamente necessitados. Ele olhou para o céu e disse: — Desejo que minha mãe acorde e volte a me fazer carinho. — Fez uma pausa e acrescentou num tom solene: — E o que Lou também está querendo. Ficou parado, cortado pelo vento, entre os ruídos estranhos que emergiam de mil fendas ocultas, todos repletos de uma força maligna, ele tinha certeza. E apesar de tudo isso, Oz não teve medo; fizera o que decidira fazer. — Amém, Jesus — concluiu ele. Momentos após Oz se virar e sair correndo, Lou brotou do meio das árvores à procura do irmão caçula. Andou também até o poço, estendeu a mão e pegou o urso. — Oz, você é tão bobo. — Mas Lou disse isso sem convicção; sua voz fraquejou. Ironicamente, foi a durona Lou e não o vulnerável Oz quem se ajoelhou no solo úmido e soluçou. Finalmente, enxugando o rosto na manga, Lou se levantou e deu as costas para o poço. Começou a se afastar apertando contra o peito o urso de Oz até que algo a fez parar — mas não saberia dizer exatamente o quê. Sim, o vento áspero parecia realmente estar soprando para trás, para a coisa que Diamante Skinner chamara tão tolamente de poço dos desejos. Lou se virou para contemplá-lo. Naquela noite, a Lua parecia ter abandonado inteiramente a ela e ao poço, mas o tijolo parecia brilhar como se estivesse em chamas. Lou não perdeu tempo. Pôs o urso de volta ao lado do poço; depois enfiou a mão no bolso da calça largona e tirou alguma coisa de lá: sua foto com a mãe, ainda na moldura. Deixou a preciosa fotografia junto do amado urso, deu um passo atrás e, plagiando uma página do livro do irmão, juntou
as mãos e olhou para o céu. Ao contrário de Oz, porém, não se preocupou em fazer o sinal-da-cruz ou falar em voz alta e clara para o poço ou para os céus. Sua boca se mexeu, mas nenhuma palavra poderia ser ouvida. Era como se a fé no que estava fazendo tivesse de ser silenciosa. Daí a pouco, virou-se e correu nos passos do irmão, embora tendo o cuidado de manter uma boa distância. Não queria que Oz descobrisse que havia sido seguido, pois sem dúvida ela só saíra de casa para vigiá-lo. Lá atrás, o urso e a fotografia ficaram tristemente jogados contra a beirada de tijolo, como precárias oferendas na entrada de um lugar sagrado. Como Louisa previra, Lou e Hit tinham finalmente chegado a um acordo. Orgulhosa, vira a neta insistir depois de cada tombo. As escaramuças com o genioso animal, longe de assustá-la, só a deixavam mais determinada. E mais esperta. De repente, arado, mula e Lou começaram a se mover num harmonioso conjunto. Oz, por seu lado, se tornara um perito em guiar a grande charrua que Sam, a outra mula, arrastava pelas roças. Como o peso de Oz era pouco, Eugene empilhara algumas pedras ao seu redor. Os grandes nacos de terra cediam e se fragmentavam sob o constante arrastar da charrua, até o campo ficar liso como uma cobertura de bolo. Após semanas de trabalho, semanas de suor e músculos cansados, os quatro chegaram à conclusão de que o solo já estava pronto para receber as sementes e pararam de arar. O Dr. Travis Barnes viera de Dickens para examinar Amanda. Era um homem corpulento — rosto exageradamente vermelho, pernas curtas — com costeletas grisalhas, todo vestido de preto. Lou o achou parecido com um agente funerário que tivesse vindo enterrar um corpo, não com um homem treinado para preservar a vida. Era, contudo, uma pessoa gentil, e, apesar da triste missão que o trazia ali, soube revelar um senso de humor que deixou todo mundo à vontade. Cotton e as crianças esperaram na cozinha enquanto Louisa ficou ao lado de Travis durante toda a consulta. Quando o médico, agarrado à sua pasta preta, regressou à cozinha, vinha sacudindo a cabeça. Louisa seguia atrás, tentando parecer animada. Ele se sentou na mesa, tamborilou na beira da tigela que Louisa havia trazido e contemplou por alguns instantes a sopa, como se procurasse palavras de consolo entre os grãos de ervilha e raízes de chicória. — A boa notícia — começou — é que, pelo que pude ver, mamãe está fisicamente bem. Todos os ferimentos cicatrizaram. Ela é jovem, forte e pode comer e beber. Desde que continuem exercitando seus braços e pernas, os músculos não se enfraquecerão demais. — Ele fez uma pausa e largou a tigela. — Mas receio que nem tudo esteja bem, pois o problema da locomoção continua. — Passou um dedo na testa. — E não há muita coisa que eu possa fazer a esse respeito. Está certamente além da minha capacidade. Só posso ter esperanças e rezar para que, um dia, ela saia disto. Oz absorveu estas palavras com sangue-frio, seu otimismo pouco arranhado. Lou recebeu a informação como simples confirmação do que já sabia. O tempo que passavam na escola começou a correr mais suavemente do que Lou achara possível. Agora, depois que ela dera aqueles socos, as crianças dos montes os estavam aceitando melhor. Lou achava impossível ficar íntima de qualquer uma delas, mas pelo menos a hostilidade já não era manifesta. Billy Davis passou vários dias sem ir à escola e, quando foi, os machucados que Lou aplicara tinham sarado quase de todo, embora certas manchas novas fizessem Lou suspeitar que o terrível George Davis também tinha entrado na briga. Era o bastante para Lou começar a se sentir culpada. Por seu lado, Billy a evitava como se ela fosse uma cobra-d'água venenosa esperando a hora de saltar sobre ele, e Lou, sem dúvida, continuava em guarda. Ela agora sabia: quando menos se esperasse, o problema podia atingi-la em cheio na cabeça. Também Estelle McCoy a tratava com mais consideração. Era óbvio que Lou e Oz estavam
bem à frente dos outros em termos de aprendizado. Contudo, não se gabavam disto, uma atitude que Estelle McCoy parecia realmente apreciar. E ela nunca mais se referiu a Lou como Louisa Mae. Lou e Oz haviam doado à biblioteca da escola uma caixa de seus livros, e as crianças desfilaram uma atrás da outra para lhes agradecer. Por todo lado, uma trégua bastante razoável, talvez espetacular. Lou se levantava antes do dia clarear e fazia as tarefas domésticas. Depois ia para a escola e fazia seu trabalho lá. Na hora do recreio, comia uma broa de milho e tomava leite com Oz sob a nogueira. A árvore estava marcada com as iniciais e os nomes de todos que tinham estudado lá. Lou nunca teve vontade de gravar seu nome, pois isto sugeriria uma permanência que ela não estava nem um pouco disposta a aceitar. Os dois voltavam ao sítio à tarde, para trabalhar. Mais tarde, exaustos, iam para a cama, não muito tempo depois do pôr-do-sol. Apesar de tudo, Lou estava gostando daquela vida estável, sem grande inspiração. Os piolhos tinham encontrado o caminho da escola Pinheiro Grande e tanto Lou quanto Oz tiveram de suportar grandes lavadas de cabelo com querosene. — Não cheguem perto do fogo — advertira Louisa. — É nojento — disse Lou, passando os dedos nos fios oleosos. — No meu tempo de escola também peguei piolhos e colocaram enxofre, banha de porco e pólvora no meu couro cabeludo — disse Louisa. — O cheiro era insuportável e fiquei morrendo de medo que alguém riscasse um fósforo e minha cabeça explodisse. — Existia escola quando você era pequena? — perguntou Oz. Louisa sorriu. — Tinham o que se chamava de escola por subscrição, Oz. Um dólar por mês e você virava um aluno. Cada ano letivo durava três meses e estudavam umas cem crianças numa cabana de toras com um único cômodo. Havia um piso de tábuas de madeira crua que lascava nos dias quentes e ficava gelado no inverno. As crianças rebeldes eram castigadas com um pequeno chicote ou uma correia. Depois eram deixadas uma boa meia hora na ponta do pé, com o nariz enfiado num círculo que a professora desenhava no quadro-negro. Nunca tive de ficar na ponta do pé. Nem sempre fui boazinha, mas nunca me apanharam. Alguns alunos eram homens adultos, muito perto da idade de perder braços e pernas na guerra. Eles também iam à escola para aprender as letras e os números. Costumávamos soletrar os nomes em voz alta e às vezes os cavalos se assustavam com tanto barulho. — O castanho-claro de seus olhos cintilou. Tive uma professora que usava as marcas de sua vaca para ensinar geografia. Até hoje, não posso olhar para um mapa sem pensar naquele maldito animal. — Olhou para os dois. — Acho que uma pessoa pode ficar de cabeça quente em qualquer escola. O importante é que vocês aprendam o que é preciso. Exatamente como o pai de vocês aprendeu. — Falara olhando principalmente para Lou, e a menina parou de se queixar do querosene no cabelo. CAPÍTULO DEZOITO Certa manhã, Louisa ficou com pena dos dois e deu a Lou e a Oz um muito esperado sábado de folga para que fizessem o que bem entendessem. O dia estava muito bonito, com uma brisa gostosa do oeste atravessando um céu azul e as árvores cobertas de verde balançando sob seu toque. Diamante e Jeb vieram buscá-los de manhã. Diamante queria mostrar aos dois um lugar muito especial que havia na mata, e assim eles foram. A aparência de Diamante pouco mudara: as mesmas calças largas, a mesma camisa e nada de sapato. As solas de seus pés deviam ter os nervos amortecidos. Já deviam ser como cascos de cavalo, Lou pensou, pois o vira correr por rochas afiadas, pisar em roseiras, atravessar moitas com grandes espinhos e nem uma única vez o sangue escorreu ou o rosto se contraiu. Usava um boné
engordurado puxado sobre a testa. Lou perguntou a ele se o boné não era do pai, mas só recebeu um resmungo como resposta. Chegaram a um alto carvalho que ficava numa clareira, ou pelo menos num ponto onde a vegetação era bastante baixa. Lou reparou que ripas de madeira tinham sido pregadas no tronco da árvore, formando uma escada rústica. Diamante pôs o pé no primeiro degrau e começou a subir. — Aonde você vai? — perguntou Lou, enquanto Oz segurava Jeb, pois o cachorro parecia disposto a subir na árvore atrás do dono. — Visitar Deus — gritou Diamante, apontando direto para o alto. Lou e Oz olharam para o céu. Lá no alto, pranchas feitas de pinheirinhos descascados estavam estendidas lado a lado sobre dois galhos grossos do carvalho, formando um piso. Uma lona fora atirada sobre um ramo resistente mais acima e os lados tinham sido amarrados às pranchas do piso com cordas, formando uma rude tenda. Embora sugerindo todo tipo de diversão, a casa na árvore parecia frágil, capaz de despencar à menor rajada de vento. — Venham — dizia Diamante. Movendo-se com extrema agilidade, já subira três quartos do caminho. Lou, que teria preferido a morte mais terrível a admitir que não conseguiria fazer alguma coisa, pôs a mão e um pé nos dois primeiros degraus. — Se quiser fique aqui embaixo, Oz — disse ela. — Provavelmente não vamos demorar. — E começou a subir. — Arranjei um lugar incrível aqui, pode crer — disse Diamante num tom sedutor. Já chegara no alto, os pés descalços balançando na beirada de um galho. Oz cuspiu ritualmente nas mãos, agarrou um degrau de madeira e escalou o tronco atrás da irmã. Sentaram-se de pernas cruzadas nas toras de pinho. Era uma área de quase quatro metros quadrados, onde a cobertura de lona atirava uma bela sombra, e foi lá que Diamante mostrou seus troféus. Primeiro havia uma ponta de flecha de pederneira que, segundo ele, teria pelo menos um milhão de anos e lhe teria sido entregue num sonho. Depois ele abriu uma sacola de pano um tanto úmida e tirou lá de dentro o esqueleto de um passarinho. Disse que aquele tipo de ave fora visto pela última vez pouco depois que Deus criara o universo. — Quer dizer que foi extinto — disse Lou. — Negativo, quer dizer que anda meio sumido. Oz estava intrigado com um pedaço oco de metal. Encaixado numa das pontas, havia um grosso pedaço de vidro. Olhou através dele e, embora as coisas ficassem um pouco ampliadas, o vidro estava tão sujo e riscado que logo começou a lhe dar dor de cabeça. — Pode se ver alguém avançando a quilômetros de distância — proclamou Diamante fazendo um gesto com a mão através de seu reino. — Inimigo ou amigo. -Mostrou em seguida uma bala que, segundo ele, teria saído de um rifle U.S. Springfield de 1861. — Como sabe disso? — disse Lou. — Porque meu bisavô matou cinco sujeitos com o rifle. E meu pai me deu o rifle antes de morrer. Meu bisavô, que também foi morto com cinco tiros, lutou pelo Norte, sabiam? — Puxa! — disse Oz. — Pois é, estava no time do Norte como os grandes jogadores daquele tempo. Mas nunca levantou sua arma para um soldado do Sul. Isso não era certo. — Fantástico — disse Lou.
— Agora olha aqui — disse Diamante, tirando um pedaço de carvão de uma pequena caixa de madeira e entregando a Lou. — O que você acha? Lou examinou a coisa. A pedra estava toda lascada e áspera. — É um pedaço de carvão — disse, devolvendo a pedra e limpando a mão nas pernas da calça. — Não, não é apenas isso. Não percebe? Há um diamante aqui. Um diamante, exatamente como eu. Oz estendeu a mão e segurou a pedra. — Puxa! — foi de novo tudo que ele conseguiu dizer. — Um diamante? — disse Lou. — Como sabe? — Porque o homem que extraiu a pedra disse que era. E eu não tinha perguntado droga nenhuma. E o homem nem sabia que meu nome era Diamante. Essa é a verdade — acrescentou ele num tom indignado, vendo a descrença na fisionomia de Lou e tirando o carvão das mãos de Oz. — Lasco todo dia um pedacinho. Um dia, quando eu der um corte, ele vai estar lá, o maior, o mais puro diamante que alguém já viu. Oz contemplou a pedra com a reverência que costumava reservar para os adultos e as igrejas. — E aí o que vai fazer com ele? — perguntou. Diamante deu de ombros. — Não tenho certeza. Talvez nada. Talvez deixe guardado aqui em cima. Talvez dê a você. Gosta da pedra? — Se houver um diamante aqui dentro, vai poder vendê-lo por muito dinheiro — disse Lou. — Num preciso de dinheiro — disse Diamante esfregando o nariz. — Tenho tudo que quero aqui na serra mesmo. — Algum dia já saiu daqui? — perguntou Lou. Ele a encarou, obviamente ofendido. — Ei, acha que sou um matuto ou o quê? Já fui uma tonelada de vezes ao McKenzie, perto da ponte. Fui também a Tremont. — E o que me diz de Dickens? — Lou estendeu o olhar pelo bosque. — Vamos até lá? — Dickens? — Diamante quase caiu da árvore. — Fica a um dia de caminhada. E por que alguém ia querer ir a Dickens? — Porque é diferente daqui. Estou cansada de ver terra, mulas, esterco e carregar água — disse Lou, dando uma batidinha no bolso. — Tenho vinte dólares que trouxe comigo de Nova York. E eles estão fazendo buraco no meu bolso — acrescentou ela fitando o garoto. A soma astronômica abalou Diamante, pois mesmo ele era capaz de compreender as possibilidades. — Fica longe pra se ir a pé — disse alisando o carvão, como se quisesse induzir o diamante a sair logo da casca. — Então não vamos a pé! — respondeu Lou. O garoto atirou-lhe um olhar. — Tremont é bem mais perto. — Não, Dickens. Quero ir a Dickens. — Podíamos tomar um táxi — disse Oz. — Se chegarmos à ponte ao lado do McKenzie's — arriscou Lou —, talvez se consiga uma carona até Dickens. Quanto tempo a pé até a ponte? — Bem — começou Diamante depois de pensar um pouco —, se formos pela estrada vai levar no mínimo umas quatro horas. Quando a gente chegar, já vai estar na hora da volta. Iríamos gastar o dia de folga da maneira mais cansativa possível. — E qual o outro caminho a não ser a estrada? — Está mesmo querendo ir? — perguntou. — Estou mesmo querendo, Diamante.-Lou respirou fundo. — Bem, então vamos. Conheço um atalho. Rapaz, podemos chegar depressa como um
espirro! Desde que as montanhas tinham sido formadas, a água continuara provocando erosão no macio revestimento de calcário e cavando ravinas com centenas de metros de profundidade entre as rochas mais duras. A fileira de cristas pontudas marchava ao lado dos três enquanto eles andavam. A ravina que finalmente atingiram era muito vasta e parecia intransponível até Diamante mostrar-lhes a árvore. Naquele ponto, os choupos amarelos atingiam proporções imensas, sendo preciso pensar em ordens de grandeza de dezenas de metros. Muitos ultrapassavam em largura a altura de um homem, chegando a atingir cinquenta metros de altura. Poderiam ser obtidos 425 metros cúbicos de madeira de um único choupo. Um belo espécime se estendia sobre aquela fenda, formando uma ponte. — Atravessar por aqui corta muito caminho — disse Diamante. Ao olhar pela borda, Oz viu apenas rocha e água no fundo de uma longa queda e recuou como uma vaca assustada. Mesmo Lou parecia hesitar. Mas Diamante avançou direto para o tronco. — Não tem problema. Grosso e largo. Bolas, se pode atravessar de olhos fechados! Vamos logo. Diamante fez sua travessia, não olhando uma única vez para baixo, e Jeb trotou facilmente atrás dele. Diamante olhou para trás ao pisar de novo em terra firme. — Vamos logo! — repetiu ele. Lou encostou um pé no galho do choupo mas não deu um segundo passo. Diamante gritou do outro lado do abismo. Só não olhe pra baixo! É fácil! — Você fica aqui, Oz — disse Lou se virando para o irmão. — vou ver se é seguro mesmo. — Ela cerrou os punhos, pisou no choupo e começou a atravessar, mantendo os olhos fixos em Diamante. Logo estava se juntando a ele do outro lado. Os dois, então, se concentraram em Oz, que não dava um só passo em direção ao choupo. O olhar do menino estava cravado no chão. — Vá em frente, Diamante. Eu volto com Oz. — Não, não podemos fazer isso! Num disse que queria ir até a cidade? Bem, aproveite, estamos indo até a cidade. — Não vou sem o Oz. — Não precisa ir sem ele. Depois de mandar Jeb esperar, Diamante voltou rapidamente pela ponte formada pelo choupo e mandou que Oz subisse em seu cangote. Admirada, Lou contemplou Diamante atravessar com o irmão. — Você é mesmo forte, Diamante — disse Oz ao deslizar cuidadosamente para o solo com uma respiração de alívio. — Rapaz, isso não é nada. Certa vez um urso correu atrás de mim nessa árvore e eu levava nas costas o Jeb e um saco de farinha! Ainda por cima era de noite. E chovia tão forte que achei que Deus devia estar furioso com alguma coisa. Não se podia ver droga nenhuma. Puxa, por duas vezes eu quase caí! — bom, por sorte não — disse Oz. Lou soube esconder um sorriso. — E o que aconteceu com o urso? — perguntou ela com um entusiasmo aparentemente honesto. — Não pôde me alcançar e acabou caindo na água. Nunca mais tive de me preocupar com o maldito. — Vamos para a cidade, Diamante — disse ela, puxando seu braço. — Antes que o urso resolva voltar. Atravessaram mais uma ponte improvisada, agora uma pinguela oscilante feita de corda e tabuinhas de cedro. Nas tabuinhas havia buracos, por onde a corda fora passada e amarrada.
Diamante contou que a ponte havia sido construída por piratas e pioneiros da colônia, sendo mais tarde reformada por fugitivos confederados. Sabia onde todos eles estavam enterrados, mas alguém o fizera jurar que jamais contaria nada a ninguém. Continuaram descendo por encostas tão íngremes que tinham de segurar uns nos outros e se agarrar em árvores e trepadeiras para não se esborracharem de cabeça no chão. De vez em quando, Lou tinha de parar para ver que arbusto poderia ajudá-la a manter o equilíbrio. Era incrível fazer tais paradas e contemplar a paisagem sob os mais diferentes ângulos. Quando o terreno tornou-se menos íngreme e Oz deu sinais de cansaço, Lou se revezou com Diamante para carregá-lo nas costas. No sopé da montanha, viram-se diante de um novo obstáculo. O lento trem de carvão tinha pelo menos uns cem vagões e bloqueava a passagem de um horizonte a outro. Ao contrário do que acontecia numa composição de passageiros, os vagões de um trem de carvão eram muito grudados uns nos outros, não deixando qualquer brecha por onde pudessem passar. Diamante pegou uma pedra e atirou-a num dos carros, acertando em cheio no nome gravado: Southern Valley — Carvão e Gás. — E agora? — disse Lou contemplando os vagões cheios até a borda e os poucos lugares que havia para segurar. — Passar por cima? — Claro que não — disse Diamante. — Passar por baixo. — Ele enfiou o chapéu no bolso, caiu de barriga no chão, deslizou para baixo do trem e rastejou entre as rodas de um dos carros. Lou e Oz foram rapidamente atrás, assim como Jeb. Saíram todos do outro lado, sacudindo a poeira das roupas. — Um garoto foi decepado no meio do ano passado fazendo isso — explicou Diamante. — O trem começou a andar quando ele estava embaixo. Claro, eu não vi acontecer, mas ouvi dizer que não foi invenção. — Por que não disse isso antes de passarmos? — perguntou Lou arregalando os olhos. — bom, se eu dissesse, vocês nunca iam rastejar por baixo do trem, certo? Na estrada, pegaram uma carona num caminhão de doces da Ramsey Candy e cada um ganhou uma barra de chocolate Blue Banner de um motorista uniformizado e gorducho. — Espalhem por aí — disse ele. — É muito bom. — É mesmo — disse Diamante mordendo o chocolate. Ele mastigava devagar, metodicamente, como tivesse se transformado num perito em chocolates finos, um provador testando nova fornada. — Se o senhor me der outro, vou espalhar duas vezes mais depressa! Após uma jornada longa e esburacada, o caminhão deixou-os bem no meio de uma rua de Dickens. Quando Diamante pisou no asfalto, ergueu de imediato um pé, depois o outro. — Coisa engraçada — disse. — A sola nem sente. — Pode crer, Diamante, sua sola andaria sobre pregos sem sentir — disse Lou olhando ao redor. Dickens não era sequer um grão de poeira comparado às cidades que ela conhecia, mas, após os dias passados nos montes, o lugar já parecia a mais sofisticada metrópole do mundo. Naquela bela manhã de sábado, as calçadas estavam cheias de gente e pequenos grupos atravessavam as ruas. Usavam, em geral, roupas bonitas, mas não era difícil identificar os mineiros. Eles avançavam com as costas vergadas e aquela tosse alta, contínua, de pulmões arruinados. Havia uma imensa faixa esticada na rua. "O Carvão é o Rei", dizia ela em letras pretas como o mineral. A faixa fora amarrada na viga que havia na parede de um dos prédios, o prédio onde funcionava um escritório da Southern Valley Carvão e Gás. Havia uma fila de homens entrando e uma fila saindo, todos com sorrisos nos rostos, trazendo dinheiro no bolso, ou, possivelmente, promessas de um bom emprego. Homens elegantemente vestidos com paletós de passeio e usando chapéus de feltro atiravam moedas de prata para as ávidas crianças de rua enquanto um vendedor de carros tentava concluir um bom negócio e as
lojas se enchiam de gente barulhenta para comprar mercadorias de qualidade. A prosperidade era inequívoca e tudo ia bem no pé daquela montanha da Virginia. Um cenário alegre, repleto de energia, que deixava Lou com saudades da cidade. — Como os seus pais nunca o trouxeram aqui? — perguntou Lou a Diamante enquanto caminhavam. — Nunca houve razão para virem aqui comigo, foi isso. Ele enfiou as mãos nos bolsos e contemplou um poste telefônico, os fios correndo até a parede de um prédio. Depois viu um homem de terno, com os ombros caídos, carregando uma grande sacola de papel, e um menino de calças largas, pretas, e camisa engomada. Os dois saíam de uma loja e se aproximavam de um dos carros estacionados obliquamente em ambos os lados da rua. Quando o homem abriu a porta do carro, o menino olhou para Diamante e perguntou de onde ele era. — Como sabe que não sou daqui, filho? — disse Diamante, fitando o garoto da cidade. A criança olhou para as roupas e o rosto sujo de Diamante, para os pés descalços e cabelo desgrenhado. Pulou então para dentro do carro, fechando a porta. Continuaram andando. Passaram pelo posto Esso com suas duas bombas e um homem sorridente num berrante uniforme da empresa. Ele estava parado na frente do posto, como anúncio de charuto na porta de uma tabacaria. Os meninos espreitaram pelo vidro de uma drugstore Rexall, que promovia a liquidação de uma "cesta de ofertas". Cerca de duas dúzias de diferentes artigos poderiam ser adquiridos pela soma total de três dólares. — Bolas! A gente pode fazer tudo isso em casa — insistiu Diamante, provavelmente sentindo como Lou estava tentada a entrar para limpar a vitrine. — Eu é que não compro! — Diamante, estamos aqui para gastar dinheiro. Para nos divertirmos. — Estou me divertindo — disse ele fechando a cara. Não venha me dizer que não estou me divertindo! Passavam pelo Dominion Café com suas tabuletas de Chero Cola e "Sorvete Aqui" quando, de repente, Lou parou. — Vamos entrar — disse ela, agarrando e abrindo a porta. Um sino tilintou quando Lou entrou. Oz foi atrás. Diamante ficou parado do lado de fora por tempo suficiente para deixar claro seu desprazer com tal decisão. Acabou, no entanto, entrando também. O lugar tinha cheiro de café, fumaça de cigarro e tortas de frutas sendo preparadas. Havia guarda-chuvas à venda, pendurados no teto. Havia ainda um banco encostado numa parede e três bancos giratórios cromados, com assentos forrados de verde. Na frente dos bancos giratórios, um balcão que chegava à cintura das pessoas exibia recipientes de vidro com divisórias para diferentes tipos de bala. Havia uma pequena máquina de soda-limonada e de sorvete, e portas de vaivém deixavam escapar um bater de pratos e os aromas da comida sendo cozinhada. Num canto, havia um fogão bojudo, a chaminé presa com arame atravessando um furo na parede. O homem de camisa branca e mangas enroladas no cotovelo atravessou as portas de vaivém e se postou atrás do balcão. Tinha um ar gentil, o cabelo dividido ao meio por uma risca. Usava um avental, uma gravata curta, larga, e segurava o que pareceu a Lou uma travessa cheia de gordura. Olhou-os como se eles fossem uma brigada de tropas da União enviadas pessoalmente pelo general Grant para esfregar um pouco mais no chão os narizes dos bons habitantes da Virginia. Quando as crianças se inclinaram para a frente, ele chegou a recuar. Lou acabou ficando de pé num dos bancos para examinar o cardápio. Era um cardápio cuidadosamente escrito a giz num quadronegro, as letras bem redondas. O homem deu um passo atrás. Sua mão escorregou e os nós dos dedos deram pancadinhas num mostruário de vidro encostado na parede. A frase "não vendemos fiado" fora escrita em grossas
letras brancas. Em resposta àquela reação nada sutil, Lou tirou do bolso cinco notas de um dólar e estendeuas cuidadosamente no balcão. O homem, então, passou os olhos pela caixa registradora e sorriu, mostrando um dente de ouro na frente. Agora tinha um jeito de eterno amigo deles. Oz subiu em outro dos três banquinhos, se debruçou no balcão e cheirou os maravilhosos aromas que estavam atravessando as portas de vaivém. Diamante se mantinha a distância, como se quisesse estar perto da porta quando chegasse a hora de fugir em disparada. — Quanto é uma fatia de torta? — perguntou Lou. — Cinco centavos — disse o homem, o olhar preso nas cinco notas de um dólar sobre o balcão. — E uma torta inteira, quanto custa? — Cinquenta centavos. — Então posso comprar dez tortas com este dinheiro? — Dez tortas? — exclamou Diamante. — Deus meu! — Isso mesmo — disse rapidamente o homem. — E posso fazê-las num instante. — Ele examinou Diamante, os olhos, arregalados, descendo da explosão de mechas do cabelo aos pés descalços. — Ele está com vocês? — Não, eles é que estão comigo! — disse Diamante avançando para o balcão, os dedos segurando os suspensórios. Oz estava olhando para outra placa na parede. "Só Atendemos Brancos", ele leu em voz alta, olhando meio confuso para o homem. — Bem, nosso cabelo é louro e o de Diamante é ruivo. Acho que entramos no que diz aquela tabuleta, não é? — O sujeito olhou para Oz como se o menino tivesse algo de "especial" na cabeça. Depois enfiou um palito entre os dentes e se concentrou em Diamante. — São exigidos sapatos no meu estabelecimento. De onde você veio, menino? Da roça? — Não, da Lua. — Diamante se inclinou para a frente e abriu um exagerado sorriso. — Não vê que tenho dentes verdes? — Não sabia que era tão esperto. — Como se brandindo uma pequena espada, o homem sacudiu o palito na cara de Diamante. — Agora dê meia-volta e saia daqui. Vá! Volte para sua casa na serra e fique por lá! Em vez de obedecer, Diamante ficou na ponta dos pés, pegou um dos guarda-chuvas pendurados no teto e abriu. — Não faça isso — disse o homem dando a volta no balcão. — Dá má sorte! — É por isso mesmo que to abrindo. Quem sabe um pedaço de rocha num cai da montanha e esborracha sua cara! Antes que o homem pusesse as mãos nele, Diamante jogou o guarda-chuva aberto no ar. quando o guarda-chuva aterrissou na máquina de sorvete, um jato de coisa melosa saltou e pintou uma bela camada marrom no mostruário de vidro. — Ei! — gritou o homem, mas Diamante já fugira. Lou recolheu rapidamente o dinheiro e se levantou com Oz para ir embora. — Aonde vocês vão? — disse o homem. — Acho que não quero mais torta — disse Lou cordialmente, fechando calmamente a porta atrás dela e de Oz. — Bando de caipiras! — ainda ouviram o homem gritar. Alcançaram Diamante e os três quase morreram de rir, enquanto os passantes os olhavam com curiosidade. — Que bom que estão se divertindo — disse uma voz. Ao se virarem, se depararam com Cotton. De colete, paletó e gravata, ele tinha uma pasta na mão e um claro brilho de alegria no olhar. — Cotton — disse Lou —, o que está fazendo aqui? — O fato é que trabalho aqui, Lou. — Apontou para o outro lado da rua e as crianças olharam. A grande massa do fórum se erguia diante deles, belas paredes de tijolo sobre um feio alicerce de concreto. — E o que os três estão fazendo aqui? — perguntou.
— Louisa nos deixou tirar um dia de folga — disse Lou. Temos trabalhado muito. — É, sei disso. — Cotton abanou a cabeça. — Fiquei espantada quando vi este lugar pela primeira vez. — Lou contemplava o movimento das pessoas. — Parece realmente próspero. — Bem, as aparências enganam — disse Cotton olhando ao redor. — Nesta parte do estado, a mineração não passa de uma atividade de risco, sempre procurando se livrar do colapso total. Dickens era uma cidade de lenhadores, mas agora a maioria dos empregos depende do carvão, e não estou me referindo apenas aos empregos dos mineiros. A maioria dos negócios daqui só prosperam porque as pessoas têm os dólares ganhos nas minas para gastar. Se um dia as minas fecharem, talvez a cidade já não fique parecendo tão próspera. Um castelo de cartas se desfaz com rapidez. Daqui a cinco anos este lugar pode nem estar mais aqui. — Ele pôs os olhos em Diamante e sorriu. Mas a gente dos montes estará. Eles sempre resistem. — Virou-se para o fórum. — Sabem de uma coisa, tenho de fazer umas coisas lá dentro. Hoje não há audiências, é claro, mas sempre há alguma coisa a resolver. O que acham de nos encontrarmos daqui a duas horas? Eu gostaria muito de pagar um almoço para vocês. — Almoçar onde? — perguntou Lou olhando em volta. — Num lugar que vai lhe agradar, Lou. Chama-se Restaurante Nova York e fica aberto vinte e quatro horas. Serve café da manhã, almoço ou jantar a qualquer hora do dia ou da noite. Ainda que não haja muita gente acordada em Dickens depois das nove, é reconfortante saber que temos a opção de ovos, canjica e bacon em plena meia-noite. — Daqui a duas horas — repetiu Oz. — Mas não temos onde ver as horas. — Bem, o fórum tem a torre com relógio, mas ele costuma atrasar um pouco. Quer saber de uma coisa, Oz? Pegue aqui! — Cotton tinha tirado um relógio do bolso e agora o entregava a Oz. — Use isto. Mas tome cuidado. Foi um presente de meu pai. — Ganhou quando veio pra cá? — perguntou Lou. — Exatamente. Meu pai dizia que eu tinha muito tempo pela frente e acho que queria que eu me mantivesse sempre a par dele. — Tocou a ponta do chapéu para as crianças. — Em duas horas. — E se afastou. — Mas o que a gente vai ficar fazendo nessas duas horas? — perguntou Diamante. Lou olhou em volta e seus olhos se iluminaram. — Vamos — disse ela começando a correr. — Finalmente você vai ver sua fita, sr. Diamante. Durante quase duas horas, estiveram num lugar muito distante de Dickens, da Virginia, dos montes Apalaches e das absorventes preocupações da vida real. Andaram pela incrível terra de O mágico de Oz, cuja temporada estava se prolongando nos cinemas de toda parte. Na saída, Diamante os crivou de dezenas de perguntas sobre como o que tinham visto seria possível. — Foi Deus que fez a fita? — perguntou mais de uma vez em voz baixa. — Vamos — disse Lou apontando para o fórum. — Não quero chegar tarde. Dispararam pela rua e subiram os largos degraus da escadaria do fórum. — Ei, guris, onde pensam que vão? — disse um delegado de uniforme, com um grande bigode. — Tudo bem, Howard, eles estão comigo — disse Cotton, cruzando a porta. — Quem sabe um dia não vão ser advogados. Só querem dar uma olhada no prédio da justiça. — Deus me livre, Cotton! Não precisamos de mais advogados por aqui. — Howard sorriu e foi se afastando.
— Estão se divertindo? — perguntou Cotton. — Vi um leão, um espantalho maluco e um homem de metal numa enorme parede — disse Diamante. — Só não entendi ainda como fizeram aquilo. — Querem saber onde vou todo dia para trabalhar? — perguntou Cotton. Entusiasmados, os três responderam ao mesmo tempo que sim, mas, antes de entrarem, Oz devolveu solenemente o relógio de bolso a Cotton. — Obrigado por ter tomado conta dele, Oz. — Combinamos em duas horas, você sabe — disse o menino. — A pontualidade é uma virtude — respondeu o advogado. Entraram no fórum, deixando Jeb deitado diante do prédio. Havia um largo corredor, com salas de um lado e de outro. Sobre as portas, as placas de metal diziam: "Registro de Casamentos", "Delegacia da Receita", "Registro Civil", "Defensoria Pública" e assim por diante. Cotton explicou o que tudo aquilo significava e depois mostrou o salão do júri, que era a maior sala que Diamante já tinha visto. Foram apresentados a Fred, o oficial de justiça. O juiz Atkins, ele explicou, fora almoçar em casa. Nas paredes, havia retratos de homens de cabelos brancos com túnicas pretas. As crianças passaram as mãos pela madeira trabalhada dos móveis e cada um deles experimentou se sentar no banco das testemunhas e no boxe dos jurados. Diamante pediu para sentar na cadeira do juiz, mas Cotton achou que não era uma boa ideia. Fred também não achou boa e Diamante acabou se sentando em qualquer lugar no fundo da sala, o peito empinado como um galo. Vendo como ele estava ofendido, Lou se aproximou e começou a lhe fazer cócegas embaixo do braço. Deixaram o fórum e foram para o prédio ao lado, onde havia um certo número de salas comerciais, incluindo a de Cotton. A sala era um grande escritório com tábuas corridas que rangiam e três paredes com prateleiras. Nelas se amontoavam velhos livros de direito, caixas com escrituras e outros documentos e um belo exemplar da Constituição da Virginia. No meio da sala, havia uma grande escrivaninha de nogueira, com um telefone e montes de papéis. Havia também um velho suporte para cesta de lixo e, num canto, o cabide para o guarda-chuva e o chapéu. Não se viam, porém, chapéus pendurados, e onde deviam ficar os guarda-chuvas havia uma velha vara de pescar. Cotton deixou Diamante discar um algarismo no disco do telefone e falar com Shirley, a telefonista. O garoto quase pulou de dentro da pele quando a voz rouca tilintou em seu ouvido. Em seguida, Cotton mostrou o apartamento onde morava, no andar de cima do mesmo prédio. Tinha uma pequena cozinha entulhada de latas de ervilhas, vidros de melado, potes com temperos, pães, sacos de batata, cobertores, lampiões e muitas outras coisas. — De onde trouxe tudo isso? — perguntou Lou. — As pessoas nem sempre têm dinheiro na mão. Às vezes pagam meus honorários com mercadorias. — Abriu a pequena geladeira e mostrou os pedaços de frango, bacon e carne de boi. — Nada disso pode ser posto no banco, mas sem dúvida é muito mais gostoso que dinheiro. — Num quarto minúsculo, havia uma cama com estrado de corda e uma mesinha-de-cabeceira com um abajur. Mas a sala era grande, e estava totalmente soterrada pelos livros. Enquanto os meninos contemplavam a barragem dos livros, Cotton tirou os óculos. — Não é por acaso que estou perdendo a visão. — Leu todos esses livros? — perguntou Diamante assombrado. — Confesso minha culpa — respondeu Cotton. — Para dizer a verdade, alguns foram lidos mais de uma vez. — Já li um livro — disse Diamante com orgulho.
— Qual era o título? — perguntou Lou. — Num relembro exatamente, mas tinha muitas figuras. Não, retiro o que disse! Já li dois livros, se contarmos a Bíblia! — Podemos sem hesitação incluí-la, Diamante — disse Cotton, sorrindo. — Venha até aqui, Lou. — Cotton mostrou-lhe uma estante cheia de livros, muitos de autores célebres e com belas encadernações em couro. — É um lugar reservado para meus escritores favoritos. Lou examinou os títulos e viu de imediato todos os romances e todos os livros de contos que o pai havia escrito. Era uma bela e conciliatória isca que Cotton lhe atirava, mas Lou estava distraída. — Estou com fome — disse ela. — Podemos ir comer? O que o Restaurante Nova York servia não se aproximava nem mesmo remotamente dos cardápios de Nova York, mas ainda assim era uma boa comida e Diamante experimentou sua primeira garrafa de "soder" limonada. Gostou tanto que pediu mais duas. Depois da refeição desceram a rua, as balas de menta rolando nas bocas. Foram até um prédio comercial e Cotton lhes mostrou como, graças ao declive, todos os seis andares saíam no nível da rua, uma característica que chegara a ter repercussão na mídia nacional. — Dickens tem vocação para a fama — disse rindo. — A cidade e seus incríveis anjos de carvão. Uma das lojas estava repleta de artigos de armarinho, ferramentas e gêneros alimentícios. Os aromas de café e tabaco eram fortes e pareciam ter impregnado o lugar até os ossos. Havia rédeas de cavalos penduradas ao lado de suportes com carretéis de linha. Mais adiante, grandes barricas repletas de doces. Lou comprou um par de meias para si e um canivete para Diamante. Ele só aceitou quando Lou garantiu que, em troca, ele teria de aparar alguma coisa no terreno do sítio. Lou também comprou um urso de pelúcia para Oz e deu o urso ao menino sem fazer comentários sobre o paradeiro do antigo. Ela desapareceu por alguns minutos no fundo da loja e voltou com um objeto que passou a Cotton. Uma lente de aumento. — Para ajudar em tanta leitura — disse ela sorrindo, e Cotton também sorriu. — Obrigado, Lou. vou pensar em você sempre que abrir um livro. A menina comprou um xale para Louisa e um chapéu de palha para Eugene. Depois Oz lhe pediu algum dinheiro emprestado e ela ficou esperando com Cotton em outro ponto da loja. Oz voltou segurando um pacote embrulhado em papel marrom e se recusou firmemente a revelar o que era. Passearam pela cidade, Cotton mostrando coisas que Lou e Oz já tinham certamente visto, mas não Diamante. Depois todos se amontoaram no Oldsmobile de Cotton, estacionado diante do fórum. O carro partiu com Lou e Diamante espremidos no banco extra de trás e Oz e Jeb no banco da frente, ao lado de Cotton. O sol começava a se pôr e soprava uma brisa muito agradável. Era impossível haver algo tão bonito quando o pôr-do-sol numa montanha. Cruzaram Tremont. Pouco depois, atravessaram a minúscula ponte perto do McKenzie's e começaram a subir a serra. Num cruzamento de via férrea, Cotton saiu da estrada, entrou na linha do trem e fez o Oldsmobile avançar pelos trilhos. — Melhor que a estrada — explicou. — Voltamos a pegá-la mais na frente. Puseram uma camada de asfalto no pé da serra, mas não neste trecho. Essas estradas de montanha foram construídas na picareta e na pá. Cada homem saudável, entre dezesseis e sessenta anos, tinha de passar dez dias por ano ajudando a construir as estradas. E tinham de contribuir não só com o suor, mas também com suas próprias ferramentas. Só professores e pastores estavam isentos da obrigação e pelo menos os pastores deviam ser muito úteis. Que trabalhador não acharia conveniente recorrer a
uma prece poderosa de vez em quando? Parece que quiseram fazer um trabalho realmente bom, pois levaram quarenta anos para construir cento e vinte quilômetros. O problema é que ainda é difícil, para o traseiro de qualquer um, rodar pelos resultados de tão refinada obra. — E se vier um trem? — perguntou Oz num tom ansioso. — Então saímos dos trilhos — disse Cotton. E acabaram ouvindo o apito, o que fez Cotton parar em segurança ao lado da linha. Daí a poucos minutos, um trem muito carregado começou a passar na frente deles, lembrando uma gigantesca serpente. Movia-se devagar, pois naquele trecho a linha fazia uma curva. — É carvão? — perguntou Oz, observando os grandes montes de pedras no alto dos vagões abertos. Cotton balançou afirmativamente a cabeça. — É coque. Feito de pó de carvão cozido em fomos. Está sendo transportado para usinas siderúrgicas. — Tornou a balançar devagar a cabeça. — Os trens chegam vazios e partem cheios. Carvão, coque, madeira. A única coisa que trazem para cá é novos corpos para trabalhar. Cotton mostrou-lhes uma vila operária da companhia de carvão. Ficava num ramal fora da linha principal e era feita de casinhas idênticas. Os trilhos acabavam bem no centro do lugar, onde havia um armazém da empresa. Nesse armazém, as mercadorias se empilhavam até o teto, disse Cotton, que já estivera lá. A longa série de estruturas de tijolo estendia-se por uma rua principal. Lembrava uma colmeia. Cada casinha tinha uma porta de metal e nódoas de sujeira se acumulando em volta da chaminé. A fumaça irrompia de cada chaminé, tornando ainda mais preto o escuro que tomava conta do céu. — Fumaça de coque — explicou Cotton, mostrando também uma grande casa com um Chrysler Crown Imperial, cintilantemente novo, estacionado na frente. Era a residência do superintendente da mina. Ao lado da casa havia um curral com algumas éguas pastando e uma parelha de novilhos pulando e trotando. — Tenho de cuidar de um problema pessoal — disse Diamante, já amando os suspensórios. — Muita soda limonada. É só um minuto, só me abaixar atrás daquele galpão. Quando Cotton parou o carro, Diamante saltou e correu. Cotton ficou à espera com Lou e Oz, fazendo algumas observações de interesse. — Ali temos uma mina de carvão da Southern Valley em pleno funcionamento. A mina Clinch Número Dois, como a chamam. As minas de carvão pagam bem, mas o trabalho é extremamente duro e, do modo como os armazéns da companhia funcionam, os mineiros acabam devendo mais à empresa do que ganham como salário. — Cotton parou de falar e olhou pensativamente na direção para onde fora Diamante. Uma ruga lhe atravessou o rosto, mas ele continuou: — Além disso, os que escapam de desmoronamentos e outros acidentes acabam adoecendo e morrendo com os pulmões negros. Um apito soou e eles viram uma turma de homens, com os rostos cobertos de carvão, provavelmente cansados até os ossos, emergir da entrada da mina. Um grupo de mulheres e crianças correu ao encontro deles e foram todos para os pequenos arremedos de casas, os homens carregando marmitas de metal, soprando a fumaça dos cigarros e sacudindo as garrafas de aguardente. Outro grupo de homens, aparentemente não menos cansados, passou por eles para substituí-los sob a terra. — Costumavam trabalhar em três turnos, mas agora são apenas dois — disse Cotton. — O carvão está começando a se esgotar. Diamante voltou e tornou a se instalar no assento sobressalente. — Tudo bem com você, Diamante? — perguntou Cotton.
— Agora sim — disse o menino, um sorriso forçando seu rosto, os felinos olhos verdes se iluminando. Louisa ficou nervosa quando soube que eles tinham ido à cidade. Cotton se desculpou, dizendo que não devia ter prendido as crianças por tanto tempo; ele, então, é que tinha culpa. Louisa disse que o pai deles também fazia essas coisas e que era difícil domar um espírito desbravador, por isso estava tudo bem. Louisa aceitou o xale com lágrimas nos olhos e Eugene, experimentando o chapéu, proclamou que fora o presente mais incrível que já recebera. Após o jantar daquela noite, Oz se desculpou e foi até o quarto da mãe. Curiosa, Lou foi atrás, e, como de hábito, ficou espreitando o irmão pela estreita fenda entre porta e parede. Oz desembrulhou com cuidado o pacote que comprara na cidade e levantou a escova de cabelo para ela ver. A fisionomia de Amanda estava serena, e os olhos, como sempre, fechados. Para Lou, a mãe era uma princesa repousando num estado de quase-morte e ninguém possuía o antídoto para despertá-la. Oz se ajoelhou na cama e começou a escovar o cabelo de Amanda, falando à mãe do dia absolutamente incrível que passara na cidade. Depois de vê-lo lutar com a escova por alguns segundos, Lou entrou para ajudar. Segurando o cabelo da mãe, mostrou a Oz como executar os movimentos adequados. O cabelo de Amanda tinha crescido um pouco, mas continuava curto. No final daquela noite, Lou foi para seu quarto, guardou as meias que havia comprado, deitou-se sem tirar uma só peça de roupa, nem mesmo as botas, e ficou pensando na ida do grupo à cidade. Não fechou os olhos uma única vez até a manhã chegar e estar na hora de ordenhar as vacas. CAPITULO DEZENOVE Algumas noites mais tarde, estavam todos sentados para jantar enquanto a chuva desabava do lado de fora. Diamante também viera usando um velho pedaço de lona com um buraco por onde ele enfiava a cabeça. Uma espécie de capa impermeável feita em casa. Jeb, como se fosse dono do lugar, se sacudiu e foi para perto do fogo. Quando Diamante saiu de dentro do capote de lona, Lou viu uma coisa amarrada em seu pescoço. E o cheiro não era nada agradável. — Que é isso! — perguntou Lou, os dedos apertando o nariz, pois o fedor parecia terrível. — Assa-fétida — respondeu Louisa pelo garoto. — Uma raiz. Evita resinados. Diamante, querido, acho que pode ir se aquecer perto do fogo e me dar isso. Obrigado. — E quando Diamante se virou, ela levou a raiz para a varanda de trás e atirou longe a maldita coisa. Na mesa, a frigideira de Louisa exalava o duplo aroma de toicinho e costeletas, grandes costeletas cuja imensa parte de gordura ninguém se atreveria a comer. A carne vinha de um dos porcos que tiveram de matar. Uma tarefa de inverno que, por uma série de circunstâncias, haviam sido obrigados a executar na primavera. Na realidade, Eugene matara o animal enquanto as crianças estavam na escola. Oz, no entanto, insistira para que Eugene o deixasse ajudar a limpar o porco e separar a carne aproveitável, as costelas, o toicinho e as tripas. Quando Oz viu o animal morto, amarrado num tripé de madeira, com um gancho de ferro na boca ensanguentada e um caldeirão de água fervente ao lado (só esperando que um garotinho como ele pusesse o tempero final), saiu em disparada, os gritos ecoando de uma ponta à outra do vale. Era como se estivesse fugindo de um gigante distraído que tivesse dado uma topada em seu pé. Eugene admirou a velocidade e a capacidade pulmonar do garoto, e arregaçou as mangas para cuidar sozinho do porco. Todos comeram avidamente a carne, os tomates em conserva, as vagens que tinham ficado quase seis meses num molho de água salgada e açúcar e o resto do feijão-fradinho.
Louisa encheu todos os pratos, exceto o seu. Tirou alguns nacos dos tomates, beliscou os feijões e molhou pedaços de broa de milho no toicinho, mas só isso. Tomou uma caneca de café com raiz de chicória e olhou em volta da mesa, vendo como todos se divertiam. Estavam rindo muito de alguma bobagem que Diamante havia dito. Ela prestou atenção à chuva batendo no telhado, embora a chuva ainda nada significasse naquele momento. Mesmo que não caísse uma única gota em julho e agosto, as sementes conseguiriam crescer, pelo menos se os ventos fossem suaves. Logo estariam plantando o indispensável para a alimentação: milho, feijão-manteiga, tomates, abóboras, nabos, mandiocas, repolhos, batatas-doces e feijão roxinho. As cebolas e as batatas comuns já estavam no solo, e devidamente cobertas. As geadas não poderiam estragá-las. A terra seria boa naquele ano; tinha esse dever para com eles. Louisa continuou prestando atenção na chuva. Obrigada, Senhor, mas não esqueça de nos revelar mais de sua generosidade no próximo verão. Não em excesso para que os tomates não abram e apodreçam nos pés, nem tão pouco que só dê para o milho crescer até a cintura. Sei que é pedir demais, mas eu ficaria muito agradecida. Disse um silencioso amém e logo estava se esforçando para juntar-se à festa. Houve uma batida seca na porta e Cotton entrou. Embora a corrida do carro à varanda tivesse sido breve, seu casacão estava ensopado. Havia algo de diferente nele; o homem nem sequer sorriu. Aceitou uma xícara de café, um pedaço de broa de milho e sentou-se ao lado de Diamante. O garoto olhou para ele como se soubesse o que ia acontecer. — O xerife passou lá em casa, Diamante. Todos olharam primeiro para Cotton e depois para Diamante. Os olhos de Oz se arregalaram de tal forma que o menino ficou parecendo uma coruja sem penas. — Verdade? — disse Diamante, preparando-se para engolir um punhado de feijões e cebolas cozidas. — Parece que uma pilha de cocô de cavalo foi colocada no Chrysler novinho em folha do superintendente da mina Número Dois. O homem sentou-se nele sem se dar conta, pois já estava escuro e ele estava resfriado, de nariz entupido, e não sentia cheiro algum. É compreensível que tenha ficado muito transtornado com a experiência. — Como pode ter acontecido? — perguntou Diamante. Como o cavalo conseguiu fazer no banco do carro? Provavelmente foi recuando até a janela e deixou acontecer. — E Diamante continuou comendo, embora ninguém mais o fizesse. — Lembro que na volta a Dickens paramos ali porque você tinha um assunto delicado a resolver. — Contou isso ao xerife? — Diamante foi logo perguntando. — Não, perdi estranhamente a memória sobre o período que interessava a ele. — Diamante pareceu aliviado quando Cotton continuou: — Mas passei uma triste hora no fórum com o superintendente e um advogado da companhia de carvão que jurariam de pés juntos que foi você quem fez aquilo. Claro, através de um cuidadoso interrogatório dos dois fui capaz de demonstrar que não houve testemunhas do incidente e não havia qualquer vestígio vinculando você à cena dessa... pequena ocorrência. E felizmente não se pode tirar impressões digitais de esterco de cavalo. O juiz Atkins concordou com minha visão das coisas e assim ficamos. Mas você sabe, filho, esse pessoal do carvão nunca esquece. — Nem eles nem eu — contra-atacou Diamante. — Por que Diamante faria uma coisa dessas? — perguntou Lou. Louisa olhou para Cotton, que olhou para Lou sem responder.
— Meu coração, Diamante, está com você — disse ele —, realmente está. Você sabe disso. Mas o problema é a lei. Da próxima vez, pode não ser tão fácil tirá-lo da encrenca. E as pessoas podem começar a querer resolver o assunto com suas próprias mãos. Então, meu conselho é que leve a coisa mais devagar. Digo isto para o seu próprio bem, Diamante, você sabe que estou certo. Cotton se levantou e pôs o chapéu. Recusou-se a responder a qualquer pergunta de Lou e não aceitou um convite para ficar. Olhou para Diamante, que contemplava sem entusiasmo o resto da refeição, e falou: — Diamante, depois que aquele pessoal do carvão saiu do fórum, eu e o juiz Atkins demos uma gargalhada. Eu diria que foi uma gargalhada suficientemente longa para acabar com a carreira de Atkins. Tudo bem, filho? Diamante finalmente sorriu para o homem. — Tudo bem — disse ele.
CAPÍTULO VINTE Certa manhã, Lou se levantou cedo, antes mesmo de Louisa e Eugene, pois não havia barulho no andar de baixo. Ela já tinha se acostumado a se vestir no escuro e seus dedos se moviam depressa, ajustando as roupas e amarrando o cordão das botas. Foi até a janela e olhou. Estava tão escuro que Lou teve a estranha sensação de estar mergulhada em água profunda. Logo, no entanto, recuou, achando que tinha visto alguma coisa escapar do celeiro. Fora apenas um lampejo, como o riscar de um relâmpago. Ela abriu a janela para ver melhor, mas de qualquer modo a coisa já não estava lá. Devia ter sido sua imaginação. Descendo a escada sem fazer barulho, foi acordar Oz no quarto dele. Acabou, no entanto, parando na porta da mãe. A porta estava meio aberta e Lou hesitou um momento, como se algo estivesse bloqueando seu caminho. Ela se inclinou contra a parede, torceu um pouco o rosto e fez as mãos deslizarem pela moldura da porta. Quando tentou virar para o lado, não conseguiu. Por fim, avançou para o quarto. Foi uma surpresa ver dois vultos na cama. Oz estava deitado ao lado da mãe. Usava o pijama de calça comprida e as pontas magras de suas pernas apareciam onde a calça repuxava. Nos pés, as grossas meias de lã que tinha trazido ao se mudar para a montanha. Estava de bruços, mas com o rosto virado para o lado, de modo que Lou podia vê-lo muito bem. Oz tinha um sorriso meigo nos lábios e estava agarrado ao novo urso. Lou entrou devagar e pousou a mão nas costas do irmão. Oz não se mexeu e Lou deixou a mão deslizar suavemente para o braço da mãe. Quando exercitava os membros de Amanda, uma parte de Lou sempre nutria a esperança de que ela reagisse pelo menos um pouco. Mas Amanda continuava sendo um peso morto. E pensar que a mãe fora tão corajosa durante o acidente, impedindo que ela e Oz se machucassem. Talvez Amanda, para salvar a ela e a Oz, tivesse esgotado de vez todas as suas forças. Lou deixou os dois e foi para a cozinha. Logo estava descarregando o carvão na lareira da sala, atiçando as chamas e sentando-se um pouco na frente do fogo, para o calor derreter o frio de seus ossos. Ao amanhecer, abriu a porta e sentiu a friagem no rosto. Espessas nuvens cinzentas, saídas de alguma tempestade passada, atravessavam o céu, fazendo contraste no flamejante tom rosa-avermelhado. Logo abaixo, via-se o amplo contorno de uma montanhosa floresta verde que avançava direto para o céu. Era um dos mais esplêndidos finais de noite de que ela podia lembrar. Lou certamente nunca vira auroras como aquela na cidade. Já muitos anos pareciam ter passado desde a última vez em que Lou caminhara pelas calçadas de cimento de Nova York, tomara o metrô, correra para um táxi com o pai e a mãe, abrira caminho entre a multidão de clientes do Macy's depois do Dia de Ação de Graças ou fora ao Yankee Stadium para ver as bolas de couro rolando e devorar alguns cachorros-quentes. Há muito tudo isso fora substituído por encostas íngremes, terra, árvores, animais que tinham cheiro forte e que acompanhavam a pessoa no trabalho. O café da manhã da cidade fora trocado pelos pães torrados na brasa e o leite filtrado num pedaço de pano, a água encanada por água bombeada ou trazida num balde, as grandes bibliotecas públicas por um bonito armário, mas com poucos livros, e os altos edifícios por montanhas ainda mais altas. Por uma razão que não conseguia entender de todo, Lou não sabia se conseguiria ficar ali muito mais tempo. Talvez o pai tivesse realmente suas razões para nunca ter voltado lá. Foi até o celeiro e ordenhou as vacas. Levou um balde cheio de leite para a cozinha e outro para a casa de refrigeração, onde o pousou na corrente de água fria. O ar estava ficando mais quente.
Lou já tinha o forno quente e o toicinho fritando na frigideira quando sua bisavó chegou. Louisa vinha se lamentando que ela e Eugene tivessem dormido tão tarde. Então Louisa viu os baldes cheios na pia e Lou disse que já tinha ordenhado as vacas. Louisa sorriu admirada, percebendo a quantidade de trabalho que Lou havia feito. — Aposto que um dia vai cuidar deste lugar sem mim. — Duvido que isso aconteça — disse a menina num tom que fez Louisa parar de sorrir. Meia hora mais tarde, Cotton apareceu de surpresa. Vestia uma calça de brim com remendos, uma camisa surrada e botinas velhas. Não estava usando os óculos de aro de ferro e o chapéu de feltro fora substituído por um de palha, o que, segundo Louisa, era uma atitude inteligente, pois o dia parecia que ia ser de muito sol. Todos deram seus alôs para o homem, embora o de Lou não tivesse passado de um resmungo. Cotton começara a ler regularmente para Amanda, como prometera, e Lou, a cada vinda dele, mais se ressentia disso. Apreciava, no entanto, seus modos gentis, seus gestos de cortesia. Era uma situação conflituosa, perturbadora para a menina. Embora a temperatura tivesse caído muito na noite anterior, o frio estava longe de provocar neve. Louisa não tinha um termômetro, mas seus ossos, como ela costumava dizer, eram precisos como o mercúrio no vidrinho. E estava na hora de cuidar da plantação, Louisa declarou. Plantar tarde em geral significava não ter nada para colher. Foram para o primeiro campo a ser semeado, um retângulo meio íngreme com dez acres. O vento contínuo afugentara as preguiçosas nuvens cinzentas sobre as cristas dos montes, deixando o céu limpo. Naquela manhã, as montanhas pareciam extremamente planas, como se fossem mesas de madeira. Louisa distribuiu cuidadosamente os saquinhos com sementes de milho da estação passada. O milho fora debulhado e depois mantido num depósito no celeiro durante o inverno. Ela instruiu cautelosamente suas tropas quanto à utilidade das sementes: Trinta alqueires de milho por acre é o que nós queremos disse ela. — Se possível, mais. Por algum tempo, as coisas correram bastante bem. Oz cobriu suas fileiras, contando meticulosamente três sementes por montinho de terra como Louisa mandara fazer. Lou, no entanto, mostrava um certo desleixo, jogando duas sementes aqui, quatro ali. — Lou — disse Louisa num tom enérgico. — Três sementes por monte, menina! Lou a encarou. — Como se isso fizesse alguma diferença. Louisa pôs as mãos na cintura. — Diferença entre comerem dois e só comer um. Lou ficou um instante imóvel, mas logo continuou, agora jogando três sementes por cova, a uns vinte centímetros uma da outra. Duas horas depois, com os cinco trabalhando firme, apenas cerca de metade do campo fora semeado. Louisa os mandara passar outra hora usando enxadas para cobrir o milho. Logo Oz e Lou tinham bolhas de sangue pisado nas curvas das mãos, apesar das luvas que estavam usando. E também havia acontecido o mesmo com as mãos de Cotton. — A advocacia é uma pobre preparação para um trabalho honesto — ele explicou, mostrando as cicatrizes de batalha. As mãos de Louisa e Eugene estavam tão cheias de calos que eles nem precisavam usar luvas, e podiam trabalhar duas vezes mais rápido que os outros. Só as palmas ficavam meio avermelhadas com a fricção dos cabos ásperos das ferramentas. com a última semente coberta, Lou, muito mais chateada que cansada, sentou-se no chão, sacudindo as luvas contra a perna. — Bem, isso foi divertido. E agora? Um vulto curvado apareceu na frente dela.
— Antes de ir para a escola, pegue o Oz e vá ver por onde andam as vacas. Lou encarou os olhos de Louisa. Lou e Oz avançavam pela mata. Eugene tinha levado as vacas e o bezerro para o pasto, e as vacas, assim como as pessoas costumam fazer, começaram a rodar pelo campo à procura dos melhores lugares. Lou bateu num pé de lilases com a vara que Louisa lhe dera para afugentar as cobras. Ela não mencionara a ameaça de serpentes a Oz. Se o irmão soubesse, ela acabaria tendo de carregá-lo nas costas. — Não posso acreditar que tenhamos de ir atrás dessas vacas estúpidas! — disse furiosa. — Se são burras para se perderem, que fiquem perdidas! Os dois avançaram por entre emaranhados de cornisos e loureiros. Oz se balançou no galho mais baixo de um pinheiro áspero e deu um assobio quando um pássaro esvoaçou. Era um cardeal, embora a maioria das pessoas da montanha o conhecesse como tangará. — Veja, Lou, um cardeal atrás de nós. Voltando a atenção mais para pássaros que para vacas, eles logo conseguiram distinguir muitas variedades, a maioria das quais nem sequer conheciam. Beija-flores flutuavam sobre as ipomeias e violetas, e os dois enxotaram um bando de coto vias de uma densa cobertura de moitas. Um pequeno falcão fez questão de mostrar que estava por perto, enquanto um bando de gaios, com penas mosqueadas de azul, incomodava tudo e todos. Espessos rododendros selvagens estavam começando a florir em rosa e vermelho, assim como se abriam as flores brancas com pontas azuladas do tomilho da Virginia. No lado dos barrancos, entre amontoados de pedras escuras e outros afloramentos de rochas, viram a epigeia e o acônito. As árvores estavam em plena forma, muito copadas; o céu era um boné azul a coroá-las. E ali estavam os dois, correndo atrás de vacas desgarradas, pensou Lou. Um sininho de gado tocou à direita deles. — Louisa disse para seguirmos o sino que as vacas usam. — Oz parecia nervoso. Lou foi atrás de Oz por arvoredos de faias, choupos e tílias. Fortes trepadeiras de glicínias se agarravam neles como mãos irritantes e os pés tropeçavam em emaranhados de raízes presas num solo irregular, perigoso. Chegando a uma pequena clareira cercada por eucaliptos e abetos, ouviram novamente o sino, mas nada das vacas. Um pássaro dourado passou em disparada, sobressaltando-os. — Mu. Muuuu! — veio a voz, e o sino tilintava. A dupla olhou espantada em volta até Lou reparar no tronco curvo de um bordo. Lá estava Diamante sacudindo o sino e imitando a vaca. com a roupa de sempre e descalço, trazia um cigarro na orelha. O cabelo, se espigando para o céu, lembrava um esfregão ruivo que estivesse sendo puxado por um anjo maligno. — Que está fazendo? — perguntou Lou furiosa. Diamante passou agilmente de um galho para outro, pulou no chão e mais uma vez sacudiu o sino. Lou reparou que havia uma argola em seu macacão, onde ele amarrara o canivete que ela lhe dera com um pedaço de barbante. — Fingindo que sou uma vaca. — Não tem graça nenhuma — disse Lou. — Temos de achá-las. — Isso é fácil! Vacas nunca ficam realmente perdidas; só ficam zanzando por aí até alguém as pegar. — Ele assobiou e Jeb irrompeu pelo emaranhado de mato para juntar-se a eles. Diamante conduziu-os por uma fileira de nogueiras e freixos; num tronco, uma dupla de esquilos brigava, aparentemente por causa de alguma divisão de despejos. Todos pararam para
contemplar com reverência uma águia dourada empoleirada no galho de um choupo muito reto, com uns vinte e cinco metros de altura. Na clareira seguinte, viram as vacas pastando num cercado natural de árvores caídas. — Sabia que eram da dona Louisa. E pude apostar que vocês vinham batidos atrás. com a ajuda de Jeb e Diamante, tocaram as vacas de volta para o curral do sítio. No caminho, Diamante mostrou-lhes como se agarrar nas caudas das vacas, fazendo os animais puxá-los colina acima. Era preciso fazê-las pagar um pouco, disse ele, pela vadiagem. — Diamante — disse Lou quando já estavam trancando a porteira do curral —, por que você pôs cocô de cavalo no carro daquele homem? — Não posso dizer porque não fui eu. — Vamos lá, Diamante! Você chegou a admitir na frente do Cotton! — Ouvidos moucos. To ouvindo nada que cê diz! Uma frustrada Lou desenhava círculos no chão com o sapato. — Temos de ir para a escola, Diamante. Vai conosco? — Não vou à escola — disse ele, pondo o cigarro apagado na boca e se tornando instantaneamente adulto. — Não sei como seus pais não o obrigam a ir. Em resposta, Diamante assobiou para Jeb e disparou com ele. — Ei, Diamante! — Lou ficou gritando. Menino e cachorro só corriam cada vez mais depressa. CAPÍTULO VINTE E UM Lou e Oz passaram correndo pelo pátio vazio e entraram no prédio da escola. Sem fôlego, eles dispararam para junto das carteiras. — Desculpe o atraso — disse Lou a Estelle McCoy, que já escrevia alguma coisa no quadronegro. — Estávamos trabalhando na plantação e... — Ao olhar em volta, ela notou que pelo menos metade dos bancos estavam vazios. — Tudo bem, Lou — disse a professora. — Sei que o tempo da semeadura começou. Para mim já basta o fato de vocês terem vindo. Lou sentou-se em sua carteira. Pelo canto do olho, viu que Billy Davis estava lá. Parecia tão angelical que Lou achou melhor ter cuidado. E então ao erguer o tampo da carteira para guardar os livros, não pôde conter um grito. A cobra ali enroscada (marrom com listas amarelas, venenosa, de um metro de comprimento) estava morta. Mas havia um pedaço de papel amarrado em volta da serpente com as palavras "Fora Ianques" rabiscadas. E foi isso que realmente deixou Lou com raiva. — Lou — chamou a Sra. McCoy da frente do quadro-negro —, algum problema? Ela arriou o tampo da carteira e olhou para Billy. De lábios franzidos, ele parecia atento num livro. — Não — disse ela. Na hora do recreio continuava frio, mas o sol ia esquentando e as crianças, segurando cestinhas com sanduíches de toicinho e coisas parecidas, se reuniram do lado de fora para lanchar. Todos pareciam ter algo para encher o estômago, mesmo que fossem apenas fatias de broa de milho ou algumas bolachas. Também havia muitos abraçados a uma pequena garrafa de leite ou a um vidrinho com água de nascente. As crianças se instalavam no chão para comer, beber e conversar. Dentre os mais novos, alguns ficavam correndo em círculos até ficarem tontos e cair. Quando isso acontecia, os coleguinhas mais velhos os levantavam e os faziam comer. Lou e Oz sentaram-se sob a comprida sombra da nogueira, a brisa erguendo preguiçosamente as pontas do cabelo de Lou. Oz mordeu vorazmente seu pão com manteiga e tomou a fria água de
nascente que tinham trazido num pote de conservas. Lou, no entanto, não comeu. Parecia estar esperando alguma coisa e esticava as pernas como antes de uma corrida. Billy Davis passou todo emproado pelos pequenos grupos de crianças comendo, ostensivamente brandindo sua lancheira. Ela era feita de um barrilzinho de madeira com tampa e tinha um arame que servia de alça. Ele parou num dos grupos, disse alguma coisa, riu, olhou de relance para Lou e riu mais um pouco. Finalmente subiu nos galhos mais baixos de um bordo prateado e abriu a lancheira. E então deu um grito e caiu da árvore, quase aterrissando de cabeça no chão. com a cobra sobre ele, Billy rolava de um lado para o outro e gritava tentando afugentar a serpente. Aí ele percebeu que era sua própria cobra morta. Fora amarrada na tampa do barrilzinho, tampa que ele ainda segurava. Quando parou de gritar como um porco esfaqueado, percebeu que todos no pátio estavam morrendo de rir de seu comportamento. Todos, exceto Lou, que simplesmente continuava sentada, de braços cruzados, fingindo ignorar aquele espetáculo. De repente, então, ela mostrou um sorriso tão largo que quase bloqueou o sol. Quando Billy se levantou, ela também o fez. Oz empurrou o pão para dentro da boca, engoliu o resto da água e correu para ficar em segurança atrás da nogueira. com os punhos erguidos, Lou e Billy se encontraram bem no centro do pátio. Quando a multidão se fechou em torno deles, a menina ianque e o garoto dos montes começaram o segundo round. Desta vez com um corte na outra ponta do lábio, Lou estava sentada na carteira. Punha a língua de fora para Billy, sentado na frente dela com a camisa rasgada e uma bela marca roxa no olho direito. Estelle McCoy estava em pé de braços cruzados, a testa franzida. Logo após interromper aquele segundo assalto, a professora, indignada, encerrou a aula mais cedo e mandou um recado para as respectivas famílias dos contendores. Lou estava em excelente estado de espírito, pois tinha ostensivamente punido novamente Billy diante de todos. Ele sem dúvida não parecia muito à vontade. Não parava de se mexer na cadeira e olhava nervoso para a porta. Lou enfim compreendeu sua ansiedade quando a porta da escola se abriu com ruído e George Davis apareceu. — Que diabo está acontecendo aqui? — o homem clamou suficientemente alto para fazer a própria Estelle McCoy se encolher. Quando ele deu um largo passo à frente, a professora recuou. — Billy se envolveu numa briga, George — disse a Sra. McCoy. — E me manda vir aqui por causa de uma maldita briga? — ele rosnou avançando ameaçadoramente para Billy. — Eu estava no campo, seu safado, não tenho tempo para uma palhaçada dessas! — Quando George viu Lou, a selvageria de seus olhos ficou ainda mais perversa. com as costas da mão, ele deu um tapa no lado da cabeça de Billy, jogando-o no chão. — Deixou uma maldita garota acertá-lo desse jeito? — disse o pai imóvel ante o filho caído. — George Davis! — gritou Estelle McCoy. — Deixe o menino em paz! George ergueu a mão para ela num gesto ameaçador. — Agora vamos, o garoto vai trabalhar no sítio. Não quero mais nada com esta maldita escola! — Por que não deixa o Billy decidir? Louisa dissera isto entrando na sala. Oz ia bem atrás dela, agarrado à perna de sua calça. — Louisa... — disse a professora com grande alívio. — Ele ainda é um guri — disse Davis num tom inflexível — e vai fazer o que eu mandar. Louisa ajudou Billy a se sentar e procurou confortá-lo antes de se virar para o pai. — Vê um guri? Eu vejo um rapaz feito. — Ainda não é adulto — insistiu Davis com raiva. Louisa deu um passo na direção dele e
falou em voz baixa, mas seu olhar era tão febril que Lou esqueceu de respirar. — Mas você é. Por isso nunca mais torne a bater nele! Davis encostou um dedo sem unha na cara dela. — Não é da sua conta como eu trato meu garoto. Você só teve um filho. Eu já tive nove e tenho outro a caminho. — Ter muitos filhos nada tem a ver com ser um bom pai. — Veja quem fala. Uma mulher que tem um crioulão Diabo-Não morando com ela. Deus há de lhe castigar por isso! Deve ser seu sangue cherokee. Você não pertence a este lugar. Nunca pertenceu, mulher ianque! Uma atônita Lou contemplava Louisa. Ianque. E índia. — O nome dele é Eugene — disse Louisa. — E meu pai era parte apache, não cherokee. E o Deus que eu conheço pune os maus. Como os homens que batem nos filhos. — Louisa deu mais um passo à frente. — Se tornar a erguer a mão contra essa criança, é melhor pedir a seja lá qual for o seu Deus para que eu não descubra! — Está me assustando, velha... — disse Davis com um riso maldoso. — Então é mais esperto do que eu imaginava. A mão de Davis foi se transformando num punho fechado e ele parecia pronto a usá-lo quando viu o grande Eugene enchendo o umbral da porta. Então sua coragem pareceu se dissipar. Davis agarrou Billy. — Rapaz, você vai já para casa! — Billy saiu rápido da sala. Davis começou a ir atrás, mas devagar, procurando mostrar-se calmo. Ainda se virou para Louisa. — Isto não vai ficar assim. Não senhora. — Saiu batendo a porta. CAPÍTULO VINTE E DOIS O ano letivo terminara e o trabalho duro havia começado na roça. Todo dia Louisa se levantava realmente muito cedo, antes mesmo da noite atingir seu apogeu, e fazia Lou também se levantar. Como castigo por ter brigado com Billy, a menina estava fazendo as tarefas dela e as de Oz. A partir de certa hora, no entanto, iam todos para a roça, onde passavam o resto do dia trabalhando. Faziam um almoço rápido e bebiam água fria da nascente sob a sombra de uma grande magnólia, nenhum deles falando muita coisa. O suor ensopava as roupas. Durante os intervalos, Oz atirava pedras tão longe que fazia os outros rirem e baterem palmas. Ele estava ficando mais alto e os músculos em seus braços e ombros iam ficando cada vez mais pronunciados. O trabalho árduo parecia estar criando nele uma energia áspera, dura. O mesmo acontecia com a irmã. E parecia acontecer com a maioria das pessoas que viviam ali, lutando para sobreviver. Os dias já estavam bastante quentes e Oz trabalhava sem camisa e sapatos, só com a calça de brim. Lou também andava descalça e de calça comprida, mas usando uma velha camiseta de algodão. O sol era muito forte naquelas altitudes e, a cada dia que passava, eles iam ficando menos louros e mais morenos. Louisa continuava ensinando coisas às crianças. Explicava como a vagem que dava o feijãomulatinho não tinha fio, mas hastes flexíveis que viviam se enroscando nos pés de milho, e que podiam engasgar se a pessoa não as tirasse antes de comer. E como era sempre possível obter um maior número de sementes para a safra, menos para a safra de aveia, que requeria maquinário para debulhar, algo que simples sitiantes jamais teriam naqueles montes. Ensinava como lavar as roupas usando a tábua de esfregar e o sabão feito de lixívia e gordura de porco (mas sem desperdiçar). Ensinava a ferver as roupas e a enxaguá-las com cuidado, adicionando anil na terceira enxaguada para deixar tudo bonito e branco. Depois, à noite, junto à lareira, ensinava a cerzir com agulha e
linha. Louisa falava inclusive que ia chegar a hora de Lou e Oz aprenderem as refinadas técnicas de colocar ferraduras nas mulas ou consertar um arreio. Louisa também encontrou tempo para ensinar Lou e Oz a montarem em Sue, a égua. Eugene montou-os um de cada vez, em pêlo, sem ao menos um cobertor. — Onde está a sela? — perguntou Lou. — E os estribos? — Sua sela é seu rabo — respondeu Louisa. — O estribo, um par de pernas fortes. Lou sentou-se em Sue com Louisa parada ao lado da égua. — Agora, Lou, segure as rédeas com a mão direita, como lhe mostrei — disse Louisa. — Está na hora de praticar! Sue vai dar algum trabalho, mas precisa mostrar a ela quem está no comando. Lou sacudiu as rédeas, cutucou o lombo da égua, continuou a cutucar, mas Sue permaneceu absolutamente imóvel, como se estivesse adormecida. — Égua burra — Lou finalmente desabafou. — Eugene — gritou Louisa na direção da plantação. Pode me dar uma força aqui, por favor, querido? Eugene veio mancando e ajudou Louisa a subir no cavalo. Ela se instalou atrás de Lou e tomou as rédeas. — Sue não é burra. O problema é porque você não está sabendo falar com ela. Quando quiser que ela dê a partida, é só dar um bom toque na cintura e fazer um barulhinho, tipo si-su Isto significa vá! Quando quiser que ela faça a volta, não precisa sacudir as rédeas, basta movê-las de leve. Para parar, um pequeno e rápido puxão para trás. Lou fez como Luisa mostrara, e Sue começou a andar. Lou moveu as rédeas para a esquerda e a égua seguiu naquela direção. Ela deu um breve puxão para trás e Sue foi logo parando. — Ei, não acredito! — Lou mostrou um largo sorriso. Estou cavalgando. Da janela do quarto de Amanda, Cotton pôs a cabeça para fora e deu uma olhada. Depois se virou para o céu, muito bonito, e novamente para Amanda, na cama atrás dele. Daí a alguns minutos, a porta da frente se abriu e Cotton apareceu com Amanda nos braços. Ele a colocou na cadeira de balanço, ao lado da parreira de maracujá que estava em pleno florescer de roxo-avermelhado. Oz, que agora estava montado em Sue junto com a irmã, olhou para o lado, viu a mãe e quase caiu. — Ei, mãe, olhe pra mim. Sou um caubói! Louisa permaneceu ao lado da égua, fitando Amanda. Lou finalmente olhou, mas não deu mostras de grande entusiasmo ao ver a mãe do lado de fora. O olhar de Cotton ia da filha para a mãe e mesmo ele teve de admitir que a mulher parecia dolorosamente deslocada sob aquele sol, os olhos fechados, a brisa quase nem mexendo o cabelo curto, como se mesmo os elementos a tivessem abandonado. Ele a carregou de novo para dentro. Alguns dias mais tarde, numa bela manhã de verão, Lou tinha acabado de ordenhar as vacas e carregava os baldes cheios para fora do celeiro. Parou bruscamente quando olhou para o outro lado do campo. Depois correu tão depressa para a casa que derramou boa parte do leite. Pôs os baldes na varanda e entrou em disparada, passando por Louisa e por Eugene. Desceu o corredor gritando com toda a força de seus pulmões e escancarou a porta do quarto da mãe. Lá estava Oz sentado ao lado dela, lhe escovando os cabelos. — Está funcionando. Lou parecia sem fôlego. — Está verde. Tudo está! As plantas estão nascendo. Oz, vá ver! — Oz saiu tão depressa que esqueceu que só estava de cueca. Lou continuava parada no meio do quarto, o peito subindo e descendo, o sorriso imenso. Quando sua respiração se acalmou, ela avançou, sentou-se ao lado da mãe e pegou-lhe a mão amolecida.
— Só achei que gostaria de saber. Está vendo? Estamos realmente trabalhando duro. — Lou permaneceu ali sentada, em silêncio, por mais um minuto. Depois pousou a mão de Amanda e saiu, já menos agitada. Naquela noite em seu quarto, como em tantas outras noites, Louisa movia o pedal da máquina de costura Singer que comprara em prestações, num preço total de dez dólares, nove anos antes. Não queria contar às crianças o que estava fazendo e não daria pistas para que pudessem adivinhar. Lou, no entanto, tinha certeza de que era algo para ela e Oz, o que a fazia sentir-se ainda mais culpada da briga com Billy Davis. No dia seguinte, depois do jantar, Oz foi ver a mãe e Eugene foi cortar algumas espigas no depósito de milho. Lou lavou os pratos e foi se sentar na varanda da frente, ao lado de Louisa. Por algum tempo, nenhuma das duas se aventurou a falar. Lou viu uma dupla de chapins saírem voando do celeiro para pousar na cerca. A plumagem cinza e as cristas empinadas eram esplêndidas, mas a menina não estava muito interessada. — Sinto muito com relação à briga — disse ela depressa, deixando escapar uma respiração de alívio pelo fato de estar finalmente se desculpando. Louisa olhou para as duas mulas no curral. — É bom saber que sente — disse ela, e depois não disse mais nada. O sol estava começando sua descida e o céu parecia razoavelmente limpo, com poucas nuvens dignas de nota. Um grande corvo surfava sozinho no céu, pegando uma corrente de vento e depois outra, como uma folha caindo preguiçosa. Lou pegou um pouco de terra e viu um batalhão de formigas cruzando sua mão. A trepadeira de madressilvas, toda florida, juntava seu cheiro às ipomeias, às fragrâncias do cinamomo e dos cravos-da-índia, enquanto a treliça roxa dos maracujás cumpria seu dever de fazer sombra na varanda. Trepadeiras cheias de rosas tinham se enroscado ao redor da maioria das estacas da cerca e quase lembravam explosões de fogo. — George Davis é um homem horrível — disse Lou. Louisa se encostou no parapeito da varanda. — Cria os filhos como mulas e trata as mulas melhor que os filhos. — De qualquer modo, Billy não tinha nada que me fazer o que fez — disse Lou, e depois riu: — Foi engraçado vê-lo cair daquela árvore quando ele viu a cobra morta que eu pus em sua lancheira. Louisa se inclinou para frente e olhou-a com um ar curioso. — Viu mais alguma coisa naquela lancheira? — Alguma coisa mais? Como o quê? — Como comida. — Não, a lancheira estava vazia. — Lou parecia confusa. Louisa balançou devagar a cabeça, recostou-se mais uma vez no parapeito e olhou para o oeste, onde o sol, começando a deslizar para trás das montanhas, abrasava o céu de rosa e vermelho. — Sabe o que acho engraçado? — disse Louisa. — Que as crianças tenham de sentir vergonha quando os pais não se importam em lhes dar de comer. Tanta vergonha a ponto de levar uma lancheira vazia para a escola e fingir que comem. Não acha engraçado elas não quererem que ninguém perceba que não têm nada para comer? — Não — disse Lou balançando a cabeça, os olhos no chão. — Sei que não devia falar agora de seu pai. Mas tenho você e o Oz no coração e fico gostando ainda mais dos dois quando penso em compensá-los pela perda que sofreram, embora saiba que isso não é possível. — Pôs a mão no ombro de Lou e virou a menina para ela. — Mas vocês
tiveram um ótimo pai. Um homem que amava vocês. E é por isso que tudo se torna ainda mais difícil de superar. Tudo se torna simultaneamente uma bênção e uma maldição que terão de carregar nesta vida. Mas a verdade é que Billy Davis terá de viver dia a dia com o pai que tem. E eu acharia melhor estar na pele de você e do Oz. Sei que Billy Davis também. Sabe, eu rezo diariamente por todas as crianças. E você também devia rezar. CAPÍTULO VINTE E TRÊS O relógio da bisavó tinha acabado de dar meia-noite quando as pedras atingiram a janela de Lou. A menina estava no meio de um sonho, um sonho que se desintegrou sob o barulho repentino. Ela foi até a janela e olhou, a princípio não vendo nada. De repente identificou alguém e abriu a janela. — O que está fazendo, Diamante Skinner? — Vim lhe mostrar uma coisa — disse o garoto, parado ao lado de seu fiel cachorro. — Mostrar o quê? Em resposta, ele apontou para o céu. Lou achou que nunca tinha visto uma lua tão brilhante. A visão era tão nítida que era possível ver as manchas escuras na superfície. — Posso encontrar a lua sozinha, muito obrigada. — bom, num é só isso. — Diamante sorriu. — Pegue seu irmão. Vamos lá agora. Vai ser incrível o lugar onde a gente vai. Você vai ver. — Fica muito longe? — Lou parecia em dúvida. — É perto. Você não tem medo do escuro, tem? — Espere aí — disse ela, fechando a janela. Em cinco minutos, Lou e Oz conseguiram se vestir, sair devagarinho de casa e encontrar Diamante e Jeb. — É melhor que seja uma coisa boa, Diamante — disse Lou bocejando —, ou você vai ficar com medo de nos ter acordado. Começaram a avançar num passo acelerado para o sul. Durante todo o trajeto, Diamante não parou de tagarelar, mas se recusou terminantemente a dizer aonde estavam indo. Lou finalmente desistiu de tentar e contemplou como os pés descalços do menino cruzavam com facilidade as pedras pontiagudas. Ela e Oz estavam calçados. — Diamante, você nunca sente dor ou frio nos pés? — perguntou ela enquanto faziam uma pausa num pequeno outeiro para tomar fôlego. — Quando a neve chegar, talvez vocês vejam um ponto roxo no meu pé, mas só olhando muito de perto. Vamos! Puseram-se outra vez em marcha e, vinte minutos depois, Lou e Oz puderam ouvir o barulho de uma rápida corrente de água. Um minuto mais e Diamante ergueu a mão para eles pararem. — Agora vamos ter de ir realmente devagar — disse. Eles o seguiram de perto, passando por pedras que a cada passo se tornavam mais escorregadias. O som da água parecia estar vindo de todos os lados. Era como se estivessem prestes a serem atingidos por uma grande onda. Lou agarrou a mão de Oz, pois tudo aquilo lhe parecia um tanto enervante e ela desconfiava que o irmão estivesse experimentando um extremo terror. Depois de cruzarem um enorme amontoado de bétulas e um salgueiro-chorão ensopado de umidade, Lou e Oz arregalaram os olhos de espanto. A queda d'água teria uns trinta metros de altura. Jorrava de um patamar de rochas de calcário e mergulhava num poço espumante, cujas bordas serpenteavam para o escuro da mata. E Lou de repente percebeu por que Diamante apontara para a lua. Seu brilho era tão intenso, e a cascata e o lago estavam tão perfeitamente situados com relação a ela, que os três ficaram cercados por um mar
de luz. O reflexo do luar era muito forte, como se a noite tivesse virado dia. Avançaram um pouco mais. Chegaram a um lugar onde ainda podiam ver tudo, mas o barulho da água já não era tão intenso. Ali podiam falar sem ser preciso gritar sobre a trovoada da cascata. — Isto tudo vai dar no rio McCloud — disse Diamante. Ela é mais alta que a maioria das quedas. — É como se estivesse nevando para cima — disse Lou, enquanto se sentava, maravilhada, numa pedra coberta de musgo. Sob a esplêndida luminosidade, a água espumando para o alto sugeria realmente uma nevasca voltando para o céu. Num canto do poço, a água era especialmente brilhante. Eles se reuniram nesse ponto. — Sem dúvida foi aqui que Deus tocou na terra — disse Diamante num tom muito solene. Lou se inclinou para a frente, examinou de perto o lugar e se virou para Diamante. — É fósforo. — O quê? — Acho que é uma rocha de fósforo. Estudei isso na escola. — Diga de novo — pediu Diamante. Ela obedeceu, e Diamante ficou repetindo a palavra até senti-la correr com toda a falência de sua boca. Achou que era uma bela e agradável palavra para se falar, mas continuou a definir a pedra como a coisa que Deus tinha tocado, e Lou não teve ânimo para contrariá-lo. Oz se debruçou e mergulhou a mão na água, mas recuou imediatamente, tremendo. — Está sempre fria assim — informou Diamante —, mesmo no dia mais incrivelmente quente. — Olhou em volta com um sorriso nos lábios. — Mas sem dúvida é muito gostoso. — Obrigado por nos trazer aqui — disse Lou. — Trago todos os meus amigos — disse o garoto num tom amigável, olhando para o céu. — Ei, conhecem bem as estrelas? — Algumas — disse Lou. — A Ursa Maior, a constelação de Pégaso. — Dessas eu nunca ouvi falar — disse Diamante apontando para o céu boreal. — Virem um pouco a cabeça. Está vendo ali? E o que eu chamo de urso e está perdendo uma perna. E depois fica o sino de pedra. E mais na frente... — ele apontava o dedo mais para o sul —, bem ali fica Jesus sentado à direita do Pai. Só Deus não está ali, porque está sempre fora fazendo o bem. Porque é Deus. Mas se pode ver a cadeira. — Diamante se virou para eles. — Não estão vendo? Lá? Oz disse que podia ver tudo aquilo, claro como o dia, embora fosse de noite. Lou hesitou, refletindo se não seria melhor instruir adequadamente Diamante sobre as constelações ou não. Ela finalmente sorriu. — Sabe muito mais sobre estrelas que nós, Diamante. Agora, depois que você mostrou, também posso ver. Diamante deu um largo sorriso. — Bem, aqui na serra estamos muito mais perto das estrelas do que na cidade. Não se preocupe, vou continuar a ensinar você. Depois de uma agradável hora passada ali, Lou achou melhor voltarem. Estavam na metade do caminho de casa quando Jeb começou a rosnar e a executar círculos vagarosos na relva alta, o focinho enrugado, os dentes à mostra. — Qual é o problema com ele, Diamante? — perguntou Lou. — Acho que cheirou alguma coisa. Há muitos gritos de animais em volta. Não dê atenção. De repente Jeb disparou numa corrida. Seu rosnado era tão alto que machucava os ouvidos. — Jeb! — gritou Diamante. — Volte aqui agora. — O cachorro nem diminuiu a velocidade e eles finalmente viram por quê. O urso negro movia-se em longas passadas na orla mais distante do prado.
— Pare com isso, Jeb! Deixe o urso em paz! — Diamante correu atrás do cachorro e Lou e Oz correram atrás de Diamante. Mas cachorro e urso logo desapareceram no escuro da noite. Diamante finalmente parou, ansiando por ar. Lou e Oz emparelharam com ele e caíram no chão, os pulmões quase estourando. — Droga de cachorro — disse Diamante fechando os punhos com força. — Será que o urso vai machucá-lo? — perguntou Oz, ansioso. — Bolas, não! Provavelmente Jeb só vai enxotar a maldita coisa. Quando ficar cansado, volta para casa. — Mas o próprio Diamante não parecia convencido. — Vamos agora. Avançaram por alguns minutos num passo acelerado até Diamante diminuir a marcha, olhar em volta e levantar a mão mandando-os parar. Ele se virou, pôs um dedo na boca e fez sinal para que o seguissem, mas sem fazer barulho. Eles aceleraram por mais uns dez metros e então Diamante deitou de barriga no chão e Lou e Oz fizeram o mesmo. Avançaram rastejando e logo estavam na borda de um pequeno barranco. Era cercado de árvores e vegetação rasteira, e os galhos e cipós, pendendo sobre as beiradas, formavam um alpendre natural. Os raios de luz, no entanto, conseguiam atravessá-lo em certos pontos, deixando o espaço bem iluminado. — Que é isso? — Lou quis saber. — Xiii — disse Diamante, fazendo concha com as mãos em volta de uma orelha e prestando atenção. — O alambique do homem. Lou tornou a olhar e captou a bojuda engenhoca com uma barriga de metal, chaminé de cobre e pernas feitas de toras de madeira. Os potes a serem enchidos de malte uísque estavam em tábuas apoiadas sobre duas pedras chatas. Um lampião de querosene fora pendurado num poste fino enfiado no solo úmido. Saía um vapor da destilaria e eles ouviram os passos de alguém. Lou se encolheu quando George Davis apareceu amando um saco de aniagem de uns vinte quilos. O sujeito estava atento ao trabalho e aparentemente não se deu conta de que eles estavam ali. Lou olhou para Oz. O menino tremia tanto que Lou teve medo que George Davis pudesse sentir o chão vibrando. Ela puxou Diamante e apontou para o ponto de onde tinham vindo. Quando Diamante abanou aprovadoramente a cabeça, todos deram meia-volta e começaram a recuar. Lou ainda olhou de relance para trás, para o alambique, mas Davis desaparecera. Foi nesse momento, porém, que ela ficou aterrada e quase gritou, pois ouvira algo se aproximando. O urso foi a primeira coisa que lampejou em seu horizonte de visão. Vinha na direção do barranco. Atrás vinha Jeb e os dois passaram por eles. O urso, no entanto, fez uma curva fechada e o cachorro esbarrou no poste onde estava pendurado o lampião, derrubando-o. O lampião bateu no solo e se quebrou. O urso guinou para o alambique e o metal cedeu e caiu sob cento e cinquenta quilos de urso preto, soltando e rachando o tubo de cobre. Diamante correu para o fundo do barranco, gritando com o cachorro. Sem dúvida cansado de ser perseguido, o urso se virou e se ergueu nas patas traseiras, as garras e dentes agora muito salientes. Jeb parou de estalo ante a visão daquela parede preta de quase dois metros de altura que poderia parti-lo ao meio, e recuou rosnando. Diamante conseguiu pegar o cachorro e puxá-lo pelo pescoço. — Jeb, seu maluco! — Diamante! — gritou Lou, ficando em pé e vendo o homem vir na direção do seu amigo. — Que diabo é isto? — gritava Davis emergindo do escuro, espingarda na mão. — Diamante, cuidado! — Lou tornou a gritar. O urso rosnava, o cão latia, Diamante gritava e Davis apontava a espingarda e dizia
palavrões. Quando a arma disparou duas vezes, urso, cachorro e garoto saíram correndo como alucinados. Lou pôs a cara no chão quando o chumbo grosso atravessou as folhas e se cravou num tronco. — Corra, Oz, corra! — gritou Lou. Oz deu um salto e começou a correr, mas, confuso, avançou para o barranco em vez de se afastar dele. Davis estava recarregando a espingarda quando Oz apareceu. O menino percebeu o erro tarde demais e Davis agarrou-o pelo colarinho. Lou correu na direção dos dois. — Diamante! — gritou ela. — Socorro! Davis apoiara Oz numa perna com uma das mãos e com a outra tentava recarregar sua arma. — Maldito garoto — bradava o homem para o menino apavorado. Lou atirou-se contra ele de punhos cerrados, mas não conseguiu machucá-lo. Ainda que baixo, George Davis era forte como tijolo. — Solte o garoto — berrava Lou. — Solte! Davis realmente soltou Oz, mas só para atacar Lou. Ela desabou no chão, a boca sangrando. O homem, no entanto, não reparara em Diamante. O menino agarrou o poste caído, sacudiu-o e acertou as pernas de Davis, que caiu com força no chão. Depois Diamante completou o serviço, golpeando Davis na cabeça com o mesmo poste. Lou agarrou Oz, Diamante agarrou Lou e os três já estavam a mais de cinquenta metros do barranco quando George Davis retomou a confiança nas pernas e se levantou espumando de raiva. Alguns segundos depois, ouviram mais um estampido de espingarda, mas já estavam completamente fora do alcance da arma. Quando ouviram algo vindo atrás, correram ainda mais depressa. Então Diamante deu uma olhada e disse que estava tudo bem, que era só o Jeb. Mesmo assim correram todo o caminho de volta e, ao chegar ao sítio, desabaram na varanda da frente, as respirações ofegantes, as pernas e braços tremendo de medo e cansaço. Foi então que Lou chegou a pensar em continuar a corrida, pois Louisa estava parada bem na frente deles, de camisola, segurando um lampião de querosene. Queria saber onde tinham ido. Diamante tentou responder pelos três, mas Louisa mandou-o calar a boca. O tom, muito ríspido, conseguiu de fato emudecer o sempre tagarela Diamante. — Quero a verdade, Lou — ordenou a mulher. E Lou contou a ela, incluindo o encontro quase fatal com George Davis. — Mas a culpa não foi nossa — disse Lou. — Aquele urso... — Vá agora mesmo para o celeiro, Diamante! — explodiu Louisa. — E leve este maldito cachorro com você! — Sim, senhora — disse Diamante, desaparecendo furtivamente com Jeb. Louisa tornou a se virar para Lou e Oz. Lou reparou que ela estava tremendo. — Oz, vá para a cama. Nesse minuto! Oz olhou de relance para Lou e entrou correndo. Então só sobraram Lou e Louisa. A menina continuava parada e nunca se sentira tão nervosa. — Hoje você podia ter morrido. Pior é que podia ter provocado a sua morte e a de seu irmão. — Mas, Louisa, a culpa não foi nossa! Sabe como... — A culpa foi sua! — disse Louisa febrilmente, e Lou sentiu as lágrimas encherem os olhos por causa do tom. — Não a recebi nesta serra para vê-la morrer nas mãos ordinárias de George Davis, menina! Sair sozinha no meio da noite já seria muito mau. Mas levar o irmão caçula... que a seguiu no impulso, nem sabendo muito bem o que estava fazendo! Me sinto envergonhada de você! — Desculpe. — Lou baixou a cabeça. — Desculpe mesmo. Louisa continuou bastante empinada.
— Nunca bati numa criança, por mais que minha paciência tenha diminuído com o passar dos anos. Mas se fizer de novo uma coisa dessas, vai sentir o peso de minha mão, senhorita, e vai ser uma coisa que você nunca esquecerá. Está me entendendo? — Lou abanou silenciosamente a cabeça. — Agora vá dormir — disse Louisa. — E não vamos mais falar sobre isso. Na manhã seguinte, George Davis apareceu em sua carroça puxada por uma parelha de mulas. Louisa, as mãos atrás das costas, saiu para enfrentá-lo. Davis cuspiu o tabaco de mascar no chão, perto da roda da carroça. — Os demônios desses garotos arrebentaram com minha propriedade. Quero que me pague! — Está dizendo que quebraram sua destilaria. Lou e Oz saíram e viram o homem. — Demônios! — rosnou ele. — Porra de garotos! Louisa desceu da varanda. — Se pretende falar deste jeito, saia da minha terra. Já! — Quero meu dinheiro! E quero que levem uma boa surra pelo que fizeram! — Vá buscar o xerife e mostre o que fizeram com sua destilaria. Ele, então, vai me dizer o que fazer. — Sabe que não posso fazer isso, mulher. — Davis a olhava com ar estúpido, uma das mãos agarrando o chicote da mula. — Então já sabe qual é o caminho para fora de minha propriedade, George. — Que tal se eu tocar fogo no sítio? Eugene saiu da casa segurando um grande pedaço de pau. Davis ergueu o chicote. — Fique com essa cara de crioulo bem longe de mim, Diabo-Não, ou vou lhe mostrar como seu avô fazia quando lhe dava uma coça! — Davis começou a descer da carroça. — Talvez eu resolva mesmo fazer isso, rapaz! E fazer com vocês todos! Louisa tirou o rifle de trás das costas e apontou-o para George Davis. O homem não completou a descida da carroça ao ver o cano comprido do Winchester apontado para ele. — Saia da minha terra — disse ela em voz baixa, elevando ainda mais a arma, apoiando a culatra no ombro e encostando o dedo no gatilho. — Antes que eu perca a paciência e você algum sangue! — Eu lhe pago, George Davis — gritou Diamante saindo do celeiro, Jeb atrás. Davis, ainda furioso, estremeceu visivelmente. — A porra da minha cabeça ainda está soando desde que você me acertou, rapaz. — É muito sortudo, porque eu podia ter batido com muito mais força. — Seu safado! — vociferou Davis. — Quer ou não quer que eu lhe dê o dinheiro? — perguntou Diamante. — Que dinheiro? Você não tem dinheiro. — Tenho isto. — Diamante pôs a mão no bolso e puxou uma moeda. — Um dólar de prata. — Um dólar! Arruinou meu alambique, guri. Acha que a droga de um dólar vai dar jeito? Boboca! — A moeda foi de meu bisavô, que morreu faz muito tempo. Tem cem anos de idade. Um homem lá em Tremont disse que me daria vinte dólares por ela. — Me deixe ver. — Os olhos de Davis tinham se iluminado. — Nada disso. Aceite ou esqueça. Estou dizendo a verdade. Vinte dólares. O homem se chamava Monroe Darcy. É o dono da loja em Tremont. Você conhece ele. — Deixe eu ver — disse Davis após um momento de silêncio. — Diamante — gritou Lou —, não faça isso! — Um homem tem de pagar o que deve. — Diamante se aproximou da carroça mas, quando Davis estendeu a mão para a moeda, ele recuou. — Veja bem, George Davis, isto significa que estamos quites. Se eu der a moeda, você não procura nunca mais dona Louisa. Precisa jurar. Davis tinha o ar de quem se preparava para aplicar uma chicotada nas costas de Diamante.
— Juro — disse ele. — Agora me dê! Diamante atirou a moeda. Davis examinou-a, mordeu e, por fim, a meteu no bolso. — Agora vá embora — ordenou Louisa. — Da próxima vez não vou esquecer o meu revólver disse Davis sem tirar os olhos dela. O homem fez as mulas e a carroça darem a volta e partiu numa nuvem de pó. Lou ficou olhando para Louisa, que manteve o rifle apontado até o homem sumir. — Teria realmente atirado nele? — perguntou Lou. Louisa abaixou o rifle e entrou sem responder à pergunta. CAPÍTULO VINTE E QUATRO Duas noites mais tarde, enquanto Lou lavava os pratos do jantar, Oz escrevia cuidadosamente suas cartas num pedaço de papel na mesa da cozinha. Louisa o ajudava, sentada ao seu lado. Parecia cansada, Lou pensou. Era idosa e a vida não era fácil na serra. A própria Lou, sem dúvida, estava experimentando isso na própria pele. A pessoa tinha de lutar por cada pequena coisa. E Louisa passara a vida inteira lutando. Quanto tempo mais ia aguentar? Quando Lou acabou de enxugar o último prato, houve uma batida na porta. Oz correu para abrir. Cotton estava parado na porta da frente, de terno e gravata, com uma grande caixa nos braços. Atrás dele vinha Diamante. O garoto vestia uma camisa branca e limpa, tinha o rosto lavado, o cabelo penteado com água e talvez com brilhantina. Lou quase engasgou, pois o menino estava de sapatos. Era verdade que os dedos saíam pela frente, mas a maior parte dos pés estava coberta. Diamante movimentou timidamente a cabeça saudando as pessoas, como se o fato de estar limpo e arrumado o transformasse numa espécie de atração de circo. — O que tem aí? — perguntou Oz olhando para a caixa. Cotton pôs a caixa na mesa e começou a abrir devagar. — Embora muito possa ser dito a favor da palavra escrita — disse ele —, nunca devemos esquecer uma outra grande e criativa fonte de inspiração. — com um gesto majestoso, capaz de rivalizar com a melhor performance de um teatro de revistas, Cotton revelou... o gramofone. — Música! Tirou um disco de um pequeno estojo e colocou-o com cuidado no prato. Depois girou vigorosamente a manivela e pôs a agulha no lugar. Por um instante, a agulha só arranhou o disco meio trêmulo, mas logo a sala se encheu com o que Lou reconheceu como uma música de Beethoven. Cotton olhou ao redor e encostou as cadeiras na parede. — Cavalheiros, por favor — disse olhando para os outros homens. Oz, Diamante e Eugene perceberam e logo abriram espaço no meio da sala. Cotton entrou no corredor e abriu a porta de Amanda. — Sra. Amanda, hoje à noite trouxemos um repertório bem variado para satisfazê-la. Cotton voltou à sala da frente. — Por que encostou as cadeiras? — perguntou Lou. Cotton sorriu e tirou o paletó. — Porque não se pode só ouvir a música; é preciso fundir-se com ela. — Ele inclinou ostensivamente a cabeça para Lou. — Posso ter a honra desta dança, senhora? Quando deu conta, Lou estava ficando vermelha com aquele convite formal. — Cotton, você é maluco, realmente é... — Vá em frente, Lou — disse Oz —, você dança muito bem. — Ele acrescentou: — Mamãe
ensinou a ela. E eles dançaram. A princípio desajeitadamente, mas logo acertaram o passo e começaram a girar pela sala. Todos sorriam para a dupla, e Lou começou a rir. Num daqueles surtos de entusiasmo que costumava ter, Oz correu para o quarto da mãe. — Mamãe, estamos dançando, dançando. — E então disparou para a sala para ver mais um pouco. Ao som da música, Louisa movia as mãos e os pés marcavam o ritmo no chão. Diamante se aproximou. — Vamos girar pelo salão, Sra. Louisa? Louisa pegou as mãos dele. — Há anos não escuto uma proposta tão boa. Enquanto os dois se juntavam a Lou e a Cotton, Eugene colocou Oz em cima de seus sapatos e começou a rodar como os outros. Avançando pelo corredor, a música e os risos chegaram ao quarto de Amanda. Desde que estavam ali, o inverno já se transformara em primavera e a primavera dera lugar ao verão. Durante todo esse tempo, o estado de Amanda não se alterara. Lou interpretou isso como prova positiva de que a mãe jamais ia se recuperar, enquanto Oz, sempre otimista, via a coisa como um bom sinal, pois ao menos a mãe não ficara pior. A despeito, no entanto, da opinião negativa sobre o futuro de Amanda, todo dia Lou ajudava Louisa a dar banho de esponja na mãe e, uma vez por semana, a lavar seu cabelo. E tanto Lou quanto Oz mudavam frequentemente as posições de descanso de Amanda, exercitando diariamente seus braços e pernas. Nunca houve, contudo, qualquer reação de Amanda; ela estava simplesmente ali, de olhos fechados, de braços e pernas imóveis. Não estava "morta", mas também não se podia dizer que estivesse "viva". Alguma coisa, porém, ficou meio estranha quando a música começou a tocar e os risos se filtraram para o quarto. Talvez, se fosse possível sorrir sem mexer um único músculo da face, Amanda Cardinal tivesse acabado de fazê-lo. Na sala da frente, alguns discos mais tarde, a música tinha entrado por melodias bem mais agitadas. Os parceiros também tinham mudado: Lou e Diamante pulavam e giravam com a mais jovial energia; Cotton rodopiava com Oz; Eugene — a despeito da perna ruim — ensaiava com Louisa alguns modestos passos de jazz. Pouco depois, Cotton deixou a pista de dança, foi para o quarto de Amanda e sentou-se a seu lado. Falou muito carinhosamente com ela, contando as novas do dia, falando das crianças e do próximo livro que lhe pretendia ler. Tudo apenas uma conversa normal, sem dúvida, e Cotton torcendo para que ela fosse capaz de ouvi-lo e pudesse ser encorajada. — Tenho gostado imensamente das cartas que escreveu para Louisa. Suas palavras revelam uma verdadeira nobreza de espírito. Mas aguardo ansioso a oportunidade de ouvi-la frente a frente, Amanda. — Ele pegou suas mãos muito suavemente e começou a movê-las no ritmo da música. Os sons escaparam pela varanda e a luz da sala se derramou no escuro. Por um momento furtivo, tudo na casa pareceu feliz e seguro. A pequena mina de carvão que havia nas terras de Louisa ficava a cerca de três quilômetros da casa. Para ir do sítio até lá se pegava uma sinuosa estradinha de chão e depois uma trilha cheia de mato. A entrada da mina tinha largura e altura suficientes para a carroça entrar com a mula, e por isso ficava fácil se abastecer todo ano de carvão para as lareiras de inverno. com a lua agora tapada por grandes nuvens, a entrada da mina era invisível a olho nu. Na distância havia uma cintilação de luz, como a luz de um vaga-lume. De repente surgiu outro lampejo, depois outro. O grupo de homens emergiu lentamente da escuridão e se aproximou da mina, os clarões de luz agora se revelando como lampiões. Eles usavam chapéus duros com lampiões de carbureto presos nas abas. Como preparação para entrar na mina, cada um tinha tirado o chapéu,
abastecido o depósito do lampião com bolinhas úmidas de carbureto, virado a rosca que suspendia o pavio, riscado um fósforo e logo uma dúzia de lampiões havia se acendido. Um homem maior que todos os outros chamou os trabalhadores, que formaram um círculo apertado. Seu nome era Judd Wheeler, alguém que passara a maior parte da vida adulta explorando terras e pedras para ver se encontrava algo de valor. Numa das mãos, segurava um comprido rolo de papel. Ele abriu o rolo e um dos homens iluminou-o com o lampião. O papel continha numerosas marcas e dizeres, além de desenhos. O cabeçalho, no alto, ia de uma ponta à outra: "Southern Valley, Pesquisa Geológica de Carvão e Gás". Enquanto Wheeler instruía seus homens sobre as tarefas daquela noite, outro homem saiu do escuro e se juntou a eles. Usava o mesmo chapéu de feltro e as mesmas roupas velhas. George Davis também levava um lampião e parecia bastante entusiasmado por participar de toda aquela atividade. Davis conversou animadamente com Wheeler durante alguns minutos; depois avançaram todos para o interior da mina.
CAPÍTULO VINTE E CINCO Lou acordou cedo na manhã seguinte. Os sons da música tinham permanecido a noite inteira com ela e seus sonhos haviam sido agradáveis. Ela se espreguiçou, pisou cuidadosamente no chão e foi dar uma olhada na janela. O sol já tinha começado a se elevar e ela precisava ir até o celeiro para fazer a ordenha, uma tarefa que havia muito Lou assumira como sua. Passara a gostar da friagem do celeiro de manhã cedo e também do cheiro das vacas e da forragem. Às vezes subia até o depósito de feno, abria a janela do paiol e sentava-se no parapeito, contemplando a roça de seu poleiro alto, ouvindo o barulho dos passarinhos e dos pequenos animais que corriam por entre as árvores, entre as mudas da plantação e o mato alto, sentindo a brisa que sempre parecia estar ali. Aquela era apenas outra manhã de céus flamejantes, de montes solenes, do vôo alegre dos pássaros e da competente luta pela sobrevivência de animais, árvores e flores. Contudo, Lou não estava preparada para a visão de Diamante e Jeb saindo furtivamente do celeiro e tomando a direção da estrada. Vestiu-se rapidamente e desceu. Louisa tinha posto o café na mesa, embora Oz ainda não tivesse aparecido. — Foi divertido ontem à noite — disse Lou, sentando à mesa. — Provavelmente você vai achar graça, mas quando eu era mais jovem, sabia dançar muito bem — comentou Louisa enquanto punha um pãozinho coberto com geleia e um copo de leite na mesa para Lou. — Diamante deve ter dormido no celeiro — disse Lou dando uma mordida no pão. — Será que os pais dele não ficam preocupados? — Ela olhou de lado para Louisa e acrescentou: Ou talvez eu devesse perguntar se ele tem pai e mãe. Louisa suspirou e encarou a menina. — A mãe morreu quando ele nasceu. Isso é comum aqui. Muito comum. O marido juntou-se a ela quatro anos depois. — Como o pai dele morreu? — Lou pousou o pãozinho. — Isso não lhe interessa, Lou. — Tem alguma relação com o que Diamante fez no carro daquele homem? Louisa sentou-se e bateu com os dedos na mesa. — Por favor, Louisa, por favor! Eu quero mesmo saber. Estou preocupada com Diamante. Ele é meu amigo. — Foi uma explosão numa das minas — disse bruscamente Louisa. — Levou uma encosta. Uma encosta onde Donovan Skinner estava trabalhando. — E com quem Diamante ficou morando? — Diamante é um pássaro selvagem. Se o pusermos numa gaiola, vai atrofiar e morrer. Quando precisa de alguma coisa, ele sabe que pode contar comigo. — A companhia de carvão não teria de pagar pelo que aconteceu? Louisa balançou a cabeça. — Recorreram a subterfúgios legais. Cotton tentou ajudar, mas não pôde fazer muita coisa. A Southern Valley é uma força poderosa nestas redondezas. — Pobre Diamante. — O garoto sem dúvida não esqueceu a coisa — disse Louisa. — Certa vez as rodas de uma carreta caíram quando o veículo saía da mina. Outra, um dispositivo para mudar o ramal das carretas não funcionou e tiveram de mandar chamar pessoas de Roanoke para consertar. Encontraram uma pedra enfiada nas engrenagens. Aquele mesmo superintendente também já viveu um aperto num pequeno depósito na entrada da mina. A maldita porta simplesmente não abria e ele passou maus
momentos preso ali. Até hoje ninguém sabe quem fechou a porta e como aquela fechadura emperrou. — Diamante nunca teve algum problema mais sério? — Não, graças a Henry Atkins, o juiz. É um bom homem, sabe o que Diamante passou, e nada de ruim se pode esperar dele. Mas Cotton continuou conversando com Diamante e as travessuras finalmente cessaram. — Ela fez uma pausa. — Pelo menos era o que parecia até terem achado o esterco de cavalo no carro do homem. Louisa virou o rosto, mas Lou já tinha visto o largo sorriso da mulher. Lou e Oz montavam diariamente em Sue e um dia Louisa teve de admitir que tinham se transformado em bons e competentes cavaleiros. Lou adorava cavalgar com Sue. Visto lá do alto, o lombo da égua era tão largo que simplesmente parecia impossível cair. Após as tarefas da manhã, costumavam ir nadar com Diamante na Cova do Scott, um trecho de água que Diamante mostrara, garantindo que não tinha fundo. À medida que o verão avançava, Lou e Oz foram se tornando cada vez mais bronzeados, enquanto Diamante só adquiria sardas maiores. Sempre que podia, Eugene os acompanhava, e Lou ficou surpresa quando ouviu dizer que ele só tinha vinte e um anos. Eugene não sabia nadar, mas as crianças remediaram isso. Logo Eugene estava executando diferentes estilos de braçada e mesmo mergulhos na água gelada. A perna ruim não lhe impunha qualquer limitação naquele ambiente. Jogavam beisebol num campo de capim que haviam aparado. Eugene fizera um bastão com uma tora de carvalho lascada numa das pontas e usavam duas bolas, a que Diamante ganhara e outra feita de um pedaço de borracha e lã de ovelha enroladas com barbante. As bases eram punhados de barro enfileirados, sendo esta, segundo Diamante, a maneira adequada de se jogar. Era o que ele chamava de autêntico beisebol. Lou, torcedora dos Yankees de Nova York, não comentou esse ponto, deixando o garoto se divertir. O fato é que nenhum deles, nem mesmo Eugene, conseguia rebater as bolas atiradas por Oz, tão rápidos e espertos eram seus arremessos.Passaram muitas tardes revivendo as aventuras de O mágico de Oz, inventando as partes que tinham esquecido ou que achavam, com animada confiança, que podiam ser melhoradas. Diamante encarnava fascinado o Espantalho; Oz, é claro, representava o Leão Covarde e, como última alternativa, Lou tomava o lugar do frio homem de lata. Por unanimidade, proclamaram Eugene o Grande e Poderoso Mágico, e ele saía de trás de uma rocha e berrava algumas palavras que eles haviam lhe ensinado. Berrava tão alto e com uma raiva tão profunda, não importa que fingida, que Oz, na pele do Leão Covarde, pedia a Eugene, o Poderoso Mágico, se ele, por favor, não podia baixar um pouco o tom. Travavam inúmeras batalhas encarniçadas contra macacos voadores, contra bruxas que se derretiam como cera, e, com a devida dose de ingenuidade e alguma sorte nos momentos certos, o bem sempre triunfava sobre o mal naquele esplêndido monte da Virginia. Diamante contou a eles como havia patinado, no inverno, em cima da Cova do Scott. E como, usando um machado de cabo, cortara um pedaço da casca de um carvalho, que passara a usar como trenó. Assim ele fora deslizando pelas encostas nevadas das montanhas a velocidades nunca antes atingidas por um ser humano. Dizia que teria muito prazer de mostrar a eles como se fazia isso, mas todos teriam de jurar manter a coisa em segredo para que tão valioso conhecimento não caísse nas mãos das pessoas erradas e fosse usado para dominar o mundo. Não houve uma única vez que Lou deixasse transparecer que já sabia o que acontecera aos pais de Diamante. Após horas de diversão, os três deram adeus e Lou voltou para casa com Oz no lombo de Sue, às vezes acompanhando o passo de Eugene. Diamante ficou para trás, nadando mais um pouco ou batendo sozinho a bola, fazendo, como ele gostava de dizer, só o que lhe agradava. Após uma dessas saídas, Lou decidiu seguir um caminho diferente. Uma névoa fina caía
sobre as montanhas quando ela e Oz se aproximaram por trás da casa. Subiram uma encosta e, no alto de um pequeno outeiro, a uns oitocentos metros da casa, Lou fez Sue parar. Oz se contorceu atrás dela. — Vamos, Lou, precisamos voltar. Temos o que fazer. A menina, no entanto, simplesmente desceu do lombo de Sue, deixando Oz agarrado sozinho nas rédeas, quase caindo do animal. Ele gritou irritado para a irmã, mas parecia que ela nem estava ouvindo. Lou foi até o trecho de mato limpo sob a sombra de um abeto e se ajoelhou. As lápides eram simples pedaços de madeira manchados pelo tempo. E sem dúvida muito tempo se passara. Lou leu os nomes dos mortos e suas datas de nascimento e morte, ambos profundamente gravadas na madeira, provavelmente ainda tão nítidos quanto no dia em que foram colocados ali. O primeiro nome era Joshua Cardinal. As datas fizeram Lou acreditar que ele devia ter sido marido de Louisa, ou seja, bisavô dela e de Oz. Morrera aos cinquenta e dois anos — não fora uma vida assim tão longa, pensou Lou. A segunda placa era um nome que Lou conhecera por intermédio do pai. Jacob Cardinal era o pai de seu pai, seu avô e avô de Oz. Enquanto Lou recitava o nome, Oz se juntou a ela e se ajoelhou na grama. Ele tirou o chapéu de palha e não disse nada. O avô morrera ainda muito mais jovem que o pai. Haveria alguma coisa estranha com sua família? Mas então Lou se lembrou de como Louisa tinha idade e parou de se preocupar. A terceira lápide parecia a mais velha. Só tinha o nome escrito, sem datas de nascimento ou morte. — Annie Cardinal — disse Lou em voz alta. Por algum tempo, os dois ficaram ajoelhados, contemplando os pedaços de tábua marcando os restos da família que eles nunca haviam conhecido. Então Lou se levantou, caminhou até Sue, agarrou a crina espigada da égua, subiu e ajudou Oz a montar. Nenhum dos dois falou mais nada pelo resto do caminho. No jantar daquela noite, mais de uma vez Lou esteve à beira de se arriscar a comentar com Louisa o que tinham visto, mas alguma coisa a impediu. Oz, obviamente, não estava menos curioso, mas, como sempre, se dispunha a seguir a liderança da irmã. Eles tinham tempo, Lou imaginou. Podiam esperar com calma até que todas as perguntas fossem respondidas. Naquela noite, antes de ir dormir, Lou foi até a varanda dos fundos e ergueu os olhos para o outeiro. Mesmo com uma bela fatia de lua, não podia ver o pequeno cemitério, mas sabia onde ele estava. Ela nunca se interessara em pensar muito na morte, principalmente desde que perdera o pai. Agora, no entanto, percebeu que não demoraria a visitar de novo aquelas sepulturas, a contemplar mais uma vez as placas de madeira enfiadas na terra e gravadas com os nomes de gente de sua carne e sangue. CAPÍTULO VINTE E SEIS Daí a uma semana, Cotton apareceu com Diamante e entregou bandeirinhas americanas a Lou, a Oz e a Eugene. Trouxe também uma lata com quase vinte litros de gasolina, que derramou no tanque do Hudson. — Não cabemos todos no Oldsmobile — explicou ele. Resolvi o problema de um imóvel para o Leroy Meekins, que é o gerente do posto Esso. Leroy não gosta de pagar as coisas na hora e acho que ainda tenho um bom saldo com produtos do petróleo. com Eugene no volante, foram os cinco ver a parada em Dickens. Louisa ficou no sítio, tomando conta de Amanda, mas o grupo prometeu que lhe traria alguma coisa da cidade. Comeram cachorros-quentes com grandes borrifos de mostarda e ketchup, espirais de
algodão-doce e soda limonada em quantidade suficiente para fazer as crianças correrem com grande frequência para o banheiro público. Havia concursos de habilidade em barracas instaladas onde quer que sobrasse espaço e Oz participou de todos onde fosse preciso atirar alguma coisa para derrubar uma outra. Lou comprou um bonito gorro para Louisa e deixou que Oz o levasse numa sacola de papel. A cidade estava toda decorada de vermelho, branco e azul, e, enquanto passavam os carros do desfile, tanto os habitantes locais quanto os que tinham vindo da serra amontoavam-se dos dois lados da rua. As grandes alegorias eram puxadas por cavalos, mulas ou trator e exibiam os momentos mais importantes da história americana, momentos que, para a maioria dos que nasceram na Virginia, tinham, obviamente, ocorrido sempre no Sul. Havia um grupo de crianças no carro que representava as treze colônias originais e um menino carregava a bandeira com as cores da Virginia. Ela era muito maior que as bandeiras das outras crianças e a roupa do menino era a mais colorida. Um regimento de condecorados veteranos de guerra também desfilava. Entre eles se incluíam homens com barbas compridas e corpos enrugados que alegavam ter servido tanto com o venerável Bobby Lee quanto com o fanaticamente religioso Stonewall Jackson. Um dos carros, patrocinado pela Southern Valley, era dedicado à mineração de carvão e puxado por uma carreta Chevrolet pintada de dourado. Não se via nenhum mineiro de rosto encardido ou costas curvadas. No lugar deles, plantada no centro do carro, numa plataforma elevada simulando uma balança para o carvão, via-se uma bela jovem de cabelo louro, corpo perfeito e dentes muito brancos. Ela trazia uma faixa com os dizeres "Miss Carvão Betuminoso 1940". Sua mão acenava, um gesto mecânico como o de uma boneca. Mesmo as pessoas mais ignorantes conseguiriam provavelmente apreender a conexão sugerida entre os pedaços de rocha negra e o pote de conteúdo dourado pousado nelas. E os homens e meninos tinham a esperada reação de aprovação e davam alguns assobios ante a beldade que passava. Ao lado de Lou havia uma mulher velha e corcunda. Ela disse que o marido e seus três filhos trabalhavam nas minas. A mulher contemplava a rainha da beleza com olhos desdenhosos, comentando que aquela jovem obviamente jamais chegara perto de uma mina de carvão em toda a sua vida. E não reconheceria uma pedra de carvão mesmo se tropeçasse nela e caísse no betume do chão. Representantes das autoridades da cidade fizeram importantes discursos, provocando explosões de entusiásticos aplausos entre os cidadãos. O prefeito pregou de um estrado de madeira. Segundo Cotton disse a Lou, os homens sorridentes e vestidos com roupas caras ao lado dele eram altos funcionários da Southern Valley. O prefeito era jovem e dinâmico, com cabelo liso e brilhante. Usava um belo terno e um bonito relógio com corrente, e sugeria ilimitado entusiasmo no brilho do sorriso e nas mãos se elevando para o céu. Era como se estivesse pronto para agarrar algum arco-íris que estivesse passando por ali. — O carvão é o rei — anunciava o prefeito em um microfone barulhento, quase tão grande quanto sua cabeça. — E com a guerra esquentando do outro lado do Atlântico e os poderosos Estados Unidos da América construindo navios, canhões e tanques para nossos amigos que lutam contra Hitler, a demanda de coque das siderurgias, do bom e patriótico coque da Virginia, baterá recordes. E dizem que em breve nos juntaremos à luta. Sim, a prosperidade está aqui realmente em abundância e aqui permanecerá — dizia o prefeito. — Não apenas nossos filhos viverão o glorioso sonho americano, mas também os filhos de nossos filhos. E deveremos tudo isso ao generoso trabalho de pessoas como os funcionários da Southern Valley, em sua incansável disposição de trazer à superfície a rocha negra que está levando esta cidade à grandeza. Tenham certeza, amigos, vamos nos tornar a Nova York do Sul. Um dia, alguns de nós vão olhar para trás e dizer: "Quem poderia
saber que o destino reservava coisas tão espantosas para a gente de Dickens, na Virginia?" Mas vocês já sabem, porque estou lhes dizendo agora. Hip-hip hurra para a Southern Valley e Dickens, na Virginia! — E o exuberante prefeito atirou para o alto o chapéu de palhinha com aba dura. Nesse momento, a multidão juntou-se a ele nas manifestações de alegria e mais chapéus foram atirados no rodopio da brisa. Embora Diamante, Lou, Oz, Eugene e Cotton também aplaudissem, e as crianças sorrissem felizes uma para a outra, Lou reparou que a expressão de Cotton não era exatamente de um desenfreado otimismo. Quando a noite caiu, contemplaram os fogos de artifício colorindo o céu e logo subiram no Hudson, começando a sair da cidade. Tinham acabado de passar pelo fórum quando Lou interrogou Cotton sobre o discurso do prefeito e sua muda reação a ele. — Bem, já vi muitas esperanças desta cidade se esborracharem no chão — disse. — E isso geralmente acontece quando políticos e homens de negócios põem a boca no mundo para dizer que tudo está indo de vento em popa. Por essa razão eu simplesmente não sei o que dizer do discurso. Talvez desta vez seja diferente, mas eu simplesmente não sei. Lou ficou pensando nisso enquanto a barulhenta comemoração foi ficando cada vez mais distante, até todos os ruídos serem substituídos pelo vento que soprava entre as rochas e as árvores. Eles agora voltavam a subir a serra. Não andava chovendo muito, mas Louisa ainda não estava preocupada, embora rezasse todas as noites para os céus se abrirem, derramando um demorado e forte aguaceiro. Estavam tirando o mato da roça de milho e era um dia quente, em que moscas e mosquitos pareciam incomodar um bocado. Lou mexia irritada na terra, pois alguma coisa não parecia certa. — Já plantamos as sementes. Será que não podem crescer sozinhas? — Muitas coisas ameaçam as plantações e uma ou duas sempre conseguem criar problemas — respondeu Louisa. O trabalho nunca para, Lou. As coisas são assim aqui. — Bem, que pelo menos este milho seja gostoso — disse Lou brandindo a enxada. — Esta roça de milho é especial — disse Louisa. — É para os animais. Lou quase jogou a enxada no chão. — Estamos tendo todo esse trabalho para alimentar os animais? — Eles trabalham duro para nós; temos de fazer o mesmo para eles. Os animais também precisam comer. — É isso, Lou — disse Oz atacando o mato com vigorosos golpes. — Como os porcos vão ficar gordos se não comerem? Me diga! Continuaram trabalhando nos canteiros de milho, sob o sol forte, um ao lado do outro. O sol parecia tão próximo que Lou teve a sensação de poder pegá-lo e colocá-lo no bolso. De todos os cantos, gafanhotos e grilos cantavam para eles. Lou parou de cavar e viu Cotton chegar de carro. — O fato de Cotton estar vindo todo dia ler para a mamãe está fazendo Oz acreditar que ela vai melhorar — disse Lou a Louisa, falando baixo para o irmão não ouvir. Louisa manejava a enxada com a energia de uma pessoa jovem mas com a habilidade de uma pessoa mais velha. — Tem razão, é tão terrível ver Cotton querendo ajudar sua mãe. — Não foi isso que eu quis dizer. Gosto de Cotton. Louisa parou e se apoiou no cabo da enxada. — E deve, porque Cotton Longfellow é um bom homem, tenha certeza. Desde que veio pra cá já me ajudou em muita ocasião difícil. Não apenas com seu trabalho de advogado, mas com a força do braço. Quando Eugene machucou a perna, ele ficou um mês vindo aqui para trabalhar na terra. Um tempo que podia ter gasto em Dickens, ganhando um bom dinheiro. Está ajudando sua mãe porque
quer vê-la melhor. Quer que ela seja capaz de voltar a abraçar você e o Oz. Lou não disse nada, mas estava tendo dificuldade em trabalhar com a enxada e apenas cortava o mato, em vez de arrancá-lo. Louisa só levou um minuto para mostrar de novo como ela devia fazer e Lou aprendeu rapidamente a técnica adequada. Trabalharam mais um pouco em silêncio, até Louisa se endireitar e pôr a mão nas costas. — O corpo está me dizendo que devo ir um pouco mais devagar. Mas o problema é que ele vai querer comer no inverno que vem. Lou contemplou as roças. Naquele dia o céu parecia pintado com tinta lustrosa e as árvores cobriam cada centímetro quadrado de um esplêndido verde. — Por que papai nunca voltou para cá? — perguntou Lou em voz baixa. Louisa seguiu o olhar de Lou. — Não existe nenhuma lei que obrigue uma pessoa a voltar ao lugar de origem — disse ela. — Mas o papai escreveu sobre esses montes em todos os livros. Sei que gostava daqui. Louisa olhou para a menina. — Vamos tomar alguma coisa gelada — disse ela. Mandou Oz descansar um pouco e disse que iam lhe trazer um pouco d'água. Imediatamente o menino largou a enxada, pegou umas pedras e começou a pular e a gritar, sem dúvida de um modo ainda típico dos meninos pequenos. Ele costumava colocar uma lata em cima da estaca da cerca e depois atirava pedras até derrubá-la. Ficara tão bom nisso que às vezes fazia a lata voar logo no primeiro arremesso. As duas deixaram Oz se divertindo e foram para a casa de refrigeração, que ficava num dos lados de uma encosta íngreme, logo abaixo da casa, à sombra de nogueiras, de um carvalho torto e de uma muralha de gigantescos rododendros. Perto dessa cabana havia um toco de choupo, a ponta de um grande favo de mel se projetando dele e um enxame de abelhas voando sobre tudo. Elas tiraram canecas de metal de ganchos na parede e as mergulharam na água. Depois se sentaram do lado de fora e beberam. Louisa pegou as folhas verdes de uma camélia da montanha que brotara ao lado da casa de refrigeração e que mostrava belos brotos arroxeados, mas ainda bem escondidos. — Um dos segredinhos de Deus — explicou ela. Lou continuava sentada, "a caneca encaixada entre os joelhos curvados, vendo e ouvindo a bisavó naquela sombra agradável. E Louisa ia apontando outras coisas de interesse. — Ali está um papafigo. Andavam meio sumidos. Não sei por quê. — Apontou para outro passarinho no galho de um bordo. — É um curiango ou bico-de-viúva. Não me pergunte como o bendito pássaro ganhou esse nome porque não sei. Finalmente seu rosto e tom ficaram sérios. — A mãe de seu pai — continuou ela — nunca foi feliz aqui. Era de Shenandoah Valley. Ela e meu filho Jake se conheceram num concurso de dança de que ela participou. Os dois se casaram depressa demais e arrumaram uma pequena choupana perto daqui. Mas sei como ela queria viver na cidade. Achava o vale um lugar atrasado. Deus, essas montanhas deviam parecer os confins do mundo para a pobre moça! Mas então ela teve seu pai, e nos anos seguintes houve a pior seca que já se viu. Quanto menos chovia, mais a gente trabalhava. Meu menino, então, logo perdeu seu pouso e os dois vieram morar comigo. E nada de chuva. A seca dava cabo dos animais. Cabo de quase tudo que a gente tinha. — Louisa apertou as mãos e depois as soltou. — Mas conseguimos superar. E de repente as chuvas vieram e tudo ficou bem. Mas quando seu pai tinha sete anos, a mãe dele se fartou de vez da vida que estava levando e partiu. De qualquer modo, ela nunca quis aprender a fazer nada no sítio. Nem na cozinha, onde mal sabia mexer numa
frigideira. Acho que nunca foi de grande valia para Jake. — Mas Jake não quis ir com ela? — Oh, achei que ia querer, pois ela era realmente uma bela coisinha e um homem novo é um homem novo. Os dois não chegaram exatamente a brigar, mas ela não quis ficar com ele, se é que você me entende, pois ele era da roça e tudo mais. E ela abriu mão do próprio filho. A lembrança era dolorosa e Louisa balançou a cabeça antes de continuar: — Jake, é claro, nunca ia superar isso. E ainda por cima o pai dele morreu logo depois, o que não tornou as coisas mais fáceis nem para ele nem para mim. — Louisa sorriu. — Mas seu pai, Lou, foi a estrela que brilhou naquele tempo, mesmo que eu e ele tivéssemos de ver o homem que amávamos ir morrendo aos poucos. Nada havia que pudéssemos fazer. Dois dias depois de seu pai ter feito dez anos, Jake morreu. Alguns dizem que foi ataque do coração. Eu digo que foi por causa do coração partido. Aí só sobramos eu e seu papai por estas bandas. Mas foi bom, Lou, pois estávamos unidos por muito amor. Seu pai, é claro, sentiu muito a morte de Jake. — Ela se interrompeu e tomou um gole da água fria. — Mas ainda não sei lhe responder por que ele se foi e nunca voltou. Nem uma vez. — Acha que tenho traços dele? — perguntou Lou em voz baixa. — O mesmo fogo no olhar, a mesma obstinação. Um grande coração também. E vejo como toma conta de Oz. — Louisa sorriu. — Seu pai sempre me fazia rir duas vezes por dia. Quando eu acordava e pouco antes de ir para a cama. Dizia que eu devia começar e terminar o dia rindo. — Acho que mamãe devia ter nos deixado escrever para você. Dizia que um dia ia deixar, mas isso nunca aconteceu. — O choque de receber uma carta de vocês seria como apanhar de vara. Cheguei a responder a algumas cartas dela, sabia? Mas meus olhos já não ajudavam. E também havia falta de papel e selo. Lou já parecia muito à vontade. — Minha mãe pediu ao papai para se mudar para a Virginia. — E o que seu pai disse? — Louisa parecia surpresa. — Não sei. — Lou não podia dizer a verdade. — Ah — foi tudo que Louisa proferiu como resposta. Quando deu por si, Lou sentia-se cada vez mais inquieta com certas atitudes do pai, uma inquietação que não se lembrava de ter sentido antes. — Não posso acreditar que ele a tenha deixado aqui sozinha. — Eu o obriguei a ir. A serra não era um lugar para alguém como ele. Eu tinha de compartilhar aquele menino com o mundo. E seu papai não parou de me escrever todos esses anos. E me mandava um dinheiro que não tinha. Agiu muito bem comigo. Quanto a isso, nunca pense mal dele. — Mas não ficou magoada por ele nunca ter vindo? Louisa pôs um braço em volta da menina. — De certa forma ele veio agora. Mandou-me as três pessoas que mais amava no mundo. Fora uma dura jornada por uma trilha estreita que frequentemente sumia num emaranhado de mato, forçando Lou a desmontar e puxar a égua. Tinha sido, porém, um belo passeio, pois era a época em que os pássaros mais cantavam e os ramos de hortelã floresciam entre as rochas de ardósia. Ela passara por grutas desconhecidas cavadas em pedras calcárias e escondidas atrás de grandes salgueiros. Em muitas dessas grutas havia fontes de água espumante. Ao redor, viam-se os matagais de propriedades há muito abandonadas, as ervas daninhas florescendo em volta dos esqueletos de
pedra das chaminés que sobravam das casas. Finalmente, seguindo as instruções que Louisa lhe dera, Lou se viu na pequena casa da clareira. Ela examinou o lugar. Provavelmente, em mais um ou dois anos também aquela casa ia sucumbir ao mato selvagem que a pressionava por todos os lados. Arvores estendiam seus galhos pelo telhado, onde parecia haver mais buracos que telhas. Faltavam muitos pedaços de vidro na janela; um broto de árvore crescia através de uma fenda na parede da varanda e uma trepadeira de sumagre corria pelo parapeito lascado. A porta da frente estava sustentada por um único prego; na realidade encontravase toda puxada para trás, de modo que sempre permanecia aberta. Havia uma ferradura pregada sobre o umbral, um talismã para dar sorte, Lou presumiu, e o lugar bem parecia estar precisando dela. O terreno em volta também, pois nele só havia mato alto. E no entanto o quintal de terra estava bem varrido, não havia lixo espalhado e havia um canteiro de peônias ao lado da casa, com um pé de lilases no fundo e uma grande roseira de gueldres florindo ao lado de um pequeno poço com manivela. Uma trepadeira florida subia por um caramanchão num dos lados da casa. Lou ouvira dizer que as flores se desenvolviam melhor quando ninguém cuidava delas. Se isto fosse verdade, aquela devia ser a mais ignorada trepadeira com que Lou já deparara, pois chegava a vergar com o peso dos botões muito vermelhos das suas rosas. Jeb apareceu no canto da casa, latindo para Lou e para a égua. Quando saiu da casa, Diamante parou de imediato e olhou nervoso em volta, como se procurasse um lugar para se esconder. Não havia, porém, nenhum. — O que está fazendo aqui? — finalmente ele perguntou. Lou desceu do cavalo e se ajoelhou para brincar com Jeb. — Só vim fazer uma visita. Onde está sua família? — O pai está trabalhando. A mãe desceu para ir ao McKenzie's. — Vamos dar um alô para eles? Diamante enfiou as mãos nos bolsos e pousou um pé sobre o outro. — Olhe, eu tenho coisas a fazer. — Como o quê? — perguntou Lou se levantando. — Como pescar. Tenho de ir pescar. — Bem, eu vou com você. — Sabe pescar? — disse ele empinando a cabeça na direção da menina. — No Brooklyn há muitos lugares bons para se pescar. Estavam parados numa precária plataforma feita de tábuas ásperas de carvalho. As tábuas nem estavam pregadas, mas meramente apoiadas nas pedras da margem do riacho. Diamante esticava a linha com uma minhoca rosada que se contorcia enquanto Lou olhava com aversão. Uma menina corajosa era sempre uma menina corajosa, mas uma minhoca também era sempre uma minhoca. Ele passou para ela uma segunda vara de pescar. — Atire o anzol lá embaixo. Lou pegou a vara e hesitou. — Quer que eu ajude? — perguntou Diamante. — Posso fazer sozinha. — Sei. Isto é uma vara de pescar do Sul e acho que você está acostumada àquelas modernas, do Norte. — Tem razão, só uso delas. Varas do Norte. Diamante parecia ter acreditado, pois não esboçou o menor sorriso. Limitou-se a pegar a vara, mostrar como devia ser segurada e, para exemplificar, fez um arremesso quase perfeito.
Lou observou cuidadosamente sua técnica, fez alguns arremessos para treinar e acabou conseguindo executar um belo movimento. — Ora, já está quase tão boa quanto eu — disse Diamante com a devida modéstia sulista. — Daqui a pouco vou estar melhor que você — disse ela num tom de malícia. — Mas ainda tem que pegar o peixe — replicou Diamante. Meia hora mais tarde, com movimentos precisos, Diamante tinha pegado e jogado na margem a terceira truta. Lou o observava, sem dúvida admirada com a evidente habilidade, mas sua disposição competitiva falou mais alto e ela redobrou os esforços para pegar alguma coisa maior. Por fim, sem aviso, a linha do anzol de Lou levou um tranco e a menina foi puxada para a água. com um movimento brusco, ela conseguiu trazer o anzol e a metade de um grande bagre veio à tona. — Santo Deus! — disse Diamante vendo a criatura se elevar e depois cair na água. — O maior bagre que já vi. — Estendeu a mão para a vara de Lou. — Deixe comigo! — gritou ela. Diamante recuou e ficou vendo a menina e o peixe se engalfinharem numa luta quase equilibrada. De início, Lou parecia que ia vencer. Ela puxava e depois afrouxava a linha, enquanto Diamante gritava palavras de conselho e encorajamento. Lou, no entanto, escorregava cada vez mais sobre o precário píer e mais de uma vez quase caiu dentro d'água. Diamante agarrava Lou pela calça comprida e a puxava para trás. Finalmente, ela ficou cansada e ofegante. — Preciso de ajuda, Diamante. com os dois agarrados no caniço, o peixe foi rapidamente trazido para perto da margem. Diamante estendeu a mão, tirou o bagre da água e jogou-o nas tábuas, onde ele ficou se agitando de um lado para o outro. Gordo e grosso, seria gostoso de comer, pensou Diamante. Lou se abaixou e olhou orgulhosa para sua conquista, por mais que tivesse sido ajudada. E enquanto ela se curvava para observar ainda mais de perto, o peixe se sacudiu outra vez, deu um salto cuspindo água e conseguiu arrancar o anzol da boca. Lou gritou e pulou para trás, esbarrou em Diamante e os dois foram aos trambolhões para dentro d'água. Vieram à tona cuspindo e vendo o bagre se jogar na beira do píer, cair na água e desaparecer num piscar de olhos. Diamante e Lou se entreolharam por um torturante momento e depois deram início a uma titânica batalha de jogar água um no outro. Provavelmente o barulho de seus risos seria ouvido na montanha ao lado. Lou estava sentada diante do fogão enquanto Diamante alimentava as chamas para as roupas secarem. Ele pegou um velho cobertor que, para Lou, tinha o cheiro de Jeb, de mofo ou das duas coisas, mas ela agradeceu quando ele o pôs em volta de seus ombros. O interior da casa de Diamante a surpreendeu, pois era arrumado e limpo, embora as peças de mobília fossem poucas e obviamente improvisadas. Na parede, havia uma velha foto de Diamante e de um homem que Lou presumiu que fosse o pai dele. Não viu nenhuma foto da mãe. Embora o fogo estivesse muito alto, Jeb deitou perto dela e começou a catar algumas pulgas no pêlo. Como um perito, Diamante tirou as escamas das trutas que havia pescado, abriu-as com um galhinho de nogueira, da boca até a cauda, e cozinhou-as no fogo. Depois cortou uma maçã e espremeu o suco no peixe. Ele mostrou a Lou como lidar com as vértebras do peixe, conseguindo tirar gordos pedaços de carne branca do meio de minúsculas espinhas. Comeram com os dedos, o que foi muito gostoso. — Seu pai era realmente bonito — disse Lou, apontando para o retrato. Diamante olhou para a foto. — Sim, era. — Ele respirou fundo e olhou para Lou.
— Louisa me contou — disse ela. Diamante se levantou e atiçou o fogo com um graveto de ponta torta. — Não precisa ficar me jogando verde. — Por que você mesmo não me disse? — Por que deveria? — Porque somos amigos. Isso abriu as defesas de Diamante, que voltou a se sentar. — Você também ficou sem sua mãe? — perguntou Lou. — Nem cheguei a ter. Nunca conheci a mulher. — Ele passou a mão pelo tijolo lascado do fogão à lenha e os traços de seu rosto revelaram perturbação. — Sabe, ela morreu quando eu nasci... — Tudo bem, Diamante, mas você pode sentir falta dela, mesmo que nem a tenha conhecido. O menino abanou a cabeça, o polegar agora ociosamente esfregando o rosto encardido. — Às vezes eu realmente imagino como ela devia ser. Não tenho retratos. Meu pai me contou como ela era, mas não é a mesma coisa, claro. — Ele interrompeu o que dizia e mexeu num pedaço de lenha com o galho. — O que mais penso é como sua voz devia ser. E o cheiro como devia ser. E como seria o tom do cabelo e dos olhos quando ela estava no sol. Mas sinto falta também do papai porque ele era um bom sujeito. Me ensinou tudo que eu precisava saber. A caçar, a pescar. — Olhou para Lou. — Aposto que também sente falta de seu pai. Lou parecia constrangida. Fechou os olhos por um instante e abanou a cabeça. — Sinto falta. — A sorte é que ainda tem sua mãe. — Não, não tenho. Já não tenho mais, Diamante. — Agora ela parece que está mal, mas vai melhorar. As pessoas nunca nos deixam, a não ser que a gente se esqueça delas. Não sei de muita coisa, mas sei disso. Lou teve vontade de dizer que não era bem assim. A mãe dele se fora, sem discussão, mas Lou andava em areia movediça quando se tratava de Amanda. A única coisa segura era a necessidade de tomar conta de Oz. Ficaram parados ouvindo os ruídos da mata, onde árvores, insetos, pássaros e animais maiores cuidavam de suas vidas. — Por que não vai à escola? — perguntou Lou. — Já tenho catorze anos e estou indo muito bem sem ela. — Disse que tinha lido a Bíblia. — Bem, algumas pessoas leram partes pra mim. — Será que sabe pelo menos assinar o nome? — Ora, todos sabem quem eu sou. — Ele se levantou, tirou um canivete do bolso e riscou um "X" num canto da parede. — Foi assim que meu pai assinou a vida inteira, e se foi bom pra ele também vai ser bom pra mim. Lou pôs o cobertor nos ombros e ficou contemplando a dança das labaredas. Uma desagradável friagem tomara conta dela. CAPÍTULO VINTE E SETE Numa noite particularmente quente, quase no momento em que Lou estava pensando em subir para seu quarto, houve uma batida na porta. Billy Davis quase caiu no chão da sala quando Louisa abriu. — O que houve, Billy? — disse Louisa agarrando o braço trêmulo do rapaz. — Meu irmãozinho está vindo.
— Sabia que estava quase na hora. A parteira já chegou? O garoto tinha os olhos arregalados, as pernas e os braços se contorcendo como num ataque de epilepsia. — Não existe nenhuma. Papai não mandou chamar. — Meu Deus, por que não? — Diz que cobram um dólar. Ele não quer pagar. — E mentira! Nenhuma parteira daqui jamais cobrou um centavo! — O pai diz que cobram. Mas a mãe diz que o bebê não está direito na barriga. Então peguei a mula e vim buscar a senhora. — Eugene, vá prender o Hit e o Sam no balancim da carroça — disse ela. — Rápido! Antes de sair, Eugene tirou o rifle do gancho e estendeu-o para Louisa. — Melhor levar isso. Afinal, vai ter de lidar com aquele homem. Louisa, porém, balançou a cabeça sem parar de olhar para o nervoso Billy. — Estarei bem acompanhada, Eugene — disse ela sorrindo Para o garoto. — Sinto isso. Vai sair tudo bem. — vou com a senhora, então. — Eugene não largara a arma. — Aquele homem é maluco. — Não, você fica com as crianças. E vá logo, apronte a carroça! — Eugene hesitou um instante, mas acabou fazendo o que ela mandava. Louisa pegou algumas coisas e colocou-as num balde de madeira. Depois enfiou no bolso uma porção de panos, juntou também alguns lençóis limpos e avançou para a porta. — Louisa, vou com você — disse Lou. — Não, aquilo não é um bom lugar para você. — Eu vou, Louisa. Na carroça ou no lombo da Sue, não importa, mas eu vou. Quero ajudá-la. — Olhou de relance para Billy. — E ajudar a eles. — Provavelmente — disse Louisa depois de pensar um pouco —, vou precisar de outro par de mãos. Billy, seu pai está junto dela? — Tem uma égua parindo no celeiro. O pai diz que não vai sair de lá até o potro nascer. Louisa encarou o garoto. Depois, balançando a cabeça, encaminhou-se para a porta. Seguiram Billy na carroça. Ele ia montado numa velha mula de focinho branco, que tinha parte da orelha direita dilacerada. Numa das mãos, levava um lampião de querosene para ajudar a guiar o grupo. Naquele escuro, dizia Louisa, alguém poderia lhe dar um tapa que você nem veria a mão. — Não bata nas mulas, Lou. Não seria nada bom para Sally Davis se acabássemos numa vala. — Sally é a mãe de Billy? Louisa abanou a cabeça, enquanto a carroça sacolejava entre o mato rente de um lado e de outro. A única luz vinha do lampião. Para Lou parecia tanto um farol, real e confiável, como uma espécie de sirene anunciando um naufrágio. — A primeira mulher morreu durante um trabalho de parto e os filhos que ele teve com a infeliz foram embora assim que puderam. Não queriam ser espancados nem escravizados por ele. Não queriam que os deixasse morrer de fome. — Por que Sally se casou com George se ele era tão ruim? — Porque ele tinha sua própria terra, seu gado e era um viúvo com braços para o trabalho. Acho que foi isso. Acho que Sally não conseguiu ver nada além disso. Ela só tinha quinze anos. — Quinze! Só três anos mais velha que eu. — As pessoas se casam cedo por aqui. Querem ter logo filhos, uma família para ajudar no trabalho da terra. É assim que funciona. com catorze anos eu já estava na frente do padre. — Ela podia ter deixado a serra.
— Deixar tudo que conhecia? Uma coisa assustadora, não acha? — Você nunca pensou em deixar as montanhas? Louisa passou algumas voltas da roda da carroça pensando nisso. — Se quisesse, eu podia ter ido embora. Mas nunca cheguei realmente a acreditar que seria mais feliz em outra parte. Um dia desci o vale. É estranho o sopro do vento nas terras planas. Não gostei muito. Eu e estes montes nos demos muito bem durante muito tempo. — Ela ficou em silêncio, os olhos contemplando o subir e descer da luz do lampião que ia na frente. — Vi os túmulos atrás da casa — disse Lou. — Viu mesmo? — Louisa se enrijeceu um pouco. — Quem era Annie? Louisa olhou para baixo. — Annie era minha filha. — Achei que só tinha tido Jacob. — Não. Eu tive minha pequena Annie. — Ela morreu quando criança? — Só viveu um minuto. — Desculpe. — Lou pôde sentir a tristeza. — Só estava querendo saber mais alguma coisa a respeito da minha família. Louisa se recostou na madeira dura do banco da carroça e contemplou o escuro do céu como se fosse a primeira vez que o visse. — Meus períodos de gravidez foram sempre muito difíceis. Quis ter uma família grande, mas continuei perdendo as crianças muito antes da hora do parto. Achei que ia perder o próprio Jake nos últimos meses. Bem, Annie nasceu numa fria noite de primavera. Tinha um cabelo preto muito cheio e veio rápido, sem dar tempo para a parteira chegar. Foi um parto extremamente difícil. Mas oh, Lou, ela era tão bonita! Tão quente! Os dedinhos se enroscavam em volta dos meus, as pontas quase não tocando a pele. — Então Louisa parou. O único som vinha das mulas trotando e do giros da roda da carroça. Ela finalmente continuou em voz baixa, observando a escura profundeza do céu: — Seu pequeno peito subia e descia, subia e descia, e de repente se esqueceu de subir de novo. Foi incrível a rapidez com que ela ficou fria, mas era tão pequena. — Louisa respirou algumas vezes depressa, como se ainda tentasse respirar pela criança. — Foi como se eu estivesse num dia quente com um pouco de gelo na língua. Pareceu gostoso, mas acabou tão depressa que cheguei a duvidar que tivesse mesmo estado lá. — Sinto muito — disse Lou tocando a mão de Louisa. — Foi há muito tempo, mas parece ter sido ontem. — Louisa passou rapidamente a mão nos olhos. — O pai dela fez a urna, não mais que um pequena caixa. E eu fiquei a noite inteira acordada, fazendo para ela o mais belo vestido que jamais costurei em toda a minha vida. Na manhã seguinte, vesti-a com ele. Eu teria dado tudo para ver seus olhos me olhando pelo menos mais uma vez. Não parecia justo que uma mãe não pudesse ver os olhos de seu bebê ao menos mais uma vez. E então o pai dela colocou-a na pequena caixa, nós a conduzimos para aquele outeiro, a sepultamos para descansar e rezamos por ela. Depois plantamos um pé de madressilva na ponta da cova para que Annie ficasse o ano inteiro sob sua sombra. — Louisa fechou os olhos. — Costuma ir lá em cima? — Costumava subir todo dia. — Louisa abanou a cabeça. — Mas não voltei desde que enterrei um outro filho meu. Simplesmente comecei a achar a caminhada muito penosa. — Tomou as rédeas de Lou e, apesar de seu próprio conselho, chicoteou as mulas. — Melhor andar depressa. Esta noite temos de ajudar a pôr uma criança no mundo. Por causa da escuridão, Lou não podia ver quase nada das terras ou das benfeitorias do sítio. Ela só rezava para que George Davis ficasse no celeiro até o bebê nascer e as duas irem embora. A casa era surpreendentemente pequena. No aposento por onde entraram, obviamente a
cozinha, havia um fogão, embora houvesse também alguns catres com colchões, mas sem lençóis. Em três das camas havia um igual número de crianças. Duas delas, parecendo gêmeas em torno dos cinco anos, dormiam nuas. A terceira criança, um menino da idade de Oz, vestia uma camiseta de homem, suja e manchada de suor, e contemplava Lou e Louisa com olhos espantados. Louisa reconheceu-o como o outro garoto que vinha no trator descendo a montanha. Perto do fogão, num caixote de maçãs, debaixo de um cobertor manchado, havia um bebê de no máximo um ano. Louisa foi até a pia, bombeando água e usando a barra de sabão de lixívia que tinha trazido para limpar eficientemente as mãos e os braços. Então Billy conduziu as duas por um corredor estreito e abriu uma porta. Sally Davis estava deitada na cama de joelhos erguidos. Gemidos baixos saíam de sua boca. Descalça, em pé ao lado da mãe, havia uma menina magra, com uns dez anos de idade. Tinha o cabelo cortado curto e seu vestido lembrava um saco de sementes. Lou reconheceu-a do terrível encontro com o trator. Parecia tão apavorada como quando em cima do trator. — Jesse — disse Louisa, saudando-a com um gesto de cabeça —, me aqueça um pouco d'água. Duas chaleiras, querida. Billy, pegue todos os lençóis que encontrar, querido. E eles têm de estar realmente limpos. Louisa pôs os lençóis que tinha trazido nas tabuinhas de carvalho de uma cadeira bamba, sentou-se ao lado de Sally e pegou-lhe a mão. — Sally, é Louisa. Você vai ficar bem, querida. Lou olhou para Sally. Os olhos da mulher estavam vermelhos, os poucos dentes e as gengivas tinham manchas escuras. Certamente ainda nem teria trinta anos, mas parecia duas vezes mais velha. O cabelo era grisalho, a pele repuxada, enrugada, e as veias azuis latejavam na carne subnutrida. O rosto parecia mirrado como uma batata no inverno. Louisa ergueu as cobertas e viu o lençol ensopado embaixo dela. — Quanto tempo faz que sua bolsa d'água estourou? — Foi depois que Billy saiu para ir buscar a senhora disse Sally num tom ofegante. — As dores ainda estão espaçadas? — perguntou Louisa. — Agora já parece uma dor só. E muito forte. — A mulher gemia. — Acha que o bebê não está querendo vir? — perguntou Louisa, apalpando a barriga inchada. Sally agarrou a mão dela. — Deus, espero que não, ou ele vai me matar. Billy entrou com alguns lençóis, jogou-os na cadeira, olhou uma vez para a mãe e fugiu do quarto. — Lou, me ajude a colocar Sally de lado para que possamos estender lençóis limpos. — Foi o que fizeram, manipulando o mais gentilmente possível a mulher. — Agora vá ajudar Jesse com a água. E pegue isto. — Ela passou a Lou alguns panos que estavam empilhados uns sobre os outros e um rolo fino de barbante. — Ponha o barbante no meio dos panos, coloque tudo no forno e esquente até a parte de fora ficar corada. Lou foi até a cozinha para ajudar Jesse. Nunca vira a menina na escola, nem o menino de sete anos que olhava para as duas com ar assustado. Jesse tinha uma grande cicatriz rodeando o olho esquerdo, mas Lou não quis se aventurar a adivinhar como a menina tinha ficado assim. O fogo já estava quente e alguns minutos depois a chaleira começou a ferver. Lou continuou verificando a cor do pano que tinha colocado no forno e logo ele ficou suficientemente marrom. Usando trapos, elas carregaram as chaleiras e o monte de panos para o quarto, colocando-os ao lado da cama. Louisa lavou Sally com sabão e água quente no lugar por onde ia passar o bebê e atirou o
lençol sobre ela. Murmurou para Lou: — O bebê está tirando sua última soneca agora, ele e Sally. Não sei exatamente em que posição está, mas não está atravessado. — Lou olhou-a curiosamente e ela explicou: — Quer dizer, deitado na horizontal na barriga. Chamo você quando precisar. — Quantas crianças você já aparou? — Trinta e duas em cinquenta e sete anos — disse ela. Cortando o umbigo de todas. — Todas viveram? — Não — respondeu Louisa em voz baixa e depois mandou Lou sair, dizendo que a chamaria quando fosse preciso. Jesse estava na cozinha, encostada numa parede, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, a cabeça baixa, uma franja de cabelo cobrindo a cicatriz e parte do olho. Lou olhou para o menino na cama. — Como você se chama? — perguntou Lou, mas ele não respondeu. Quando deu um passo na direção dele, o menino deu um berro e jogou o cobertor na cabeça. Tremia muito. Lou acabou saindo daquela casa maluca. Ela olhou em volta até ver Billy no celeiro, à espreita na abertura da porta dupla. Avançou em silêncio e, de repente, George Davis não estava a mais que três metros. A égua estava no chão de palha. Saindo dela, e coberto por uma espécie de casulo branco, havia uma pata dianteira e o ombro do potro. Praguejando, Davis puxava a pata oleosa. O piso do celeiro era de madeira, não de terra. Sob o clarão de alguns lampiões, Lou pôde ver fileiras de ferramentas brilhantes cuidadosamente penduradas nas paredes. Incapaz de suportar a linguagem grosseira de Davis e o sofrimento da égua, Lou foi se sentar na varanda da frente. Billy veio e sentou perto dela. — Seu sítio parece muito grande — disse ela. — Papai paga homens para ajudá-lo no trabalho. Mas quando eu crescer, ele não vai mais precisar fazer isso. Eu farei o trabalho. Ouviram George Davis gritar do celeiro e os dois estremeceram. Billy parecia embaraçado e cavava a terra com o dedão do pé. — Desculpe por eu ter posto aquela cobra na sua lancheira — disse Lou. Ele a olhou espantado. — Fui eu quem fez primeiro. — Isso não elimina o que eu fiz. — Papai mataria a pessoa que fizesse isso com ele. Lou pôde ver o terror nos olhos de Billy Davis e seu coração se comoveu. — Você não é seu pai. E não precisa ser. Billy pareceu nervoso. — Ainda não disse a ele que fui buscar a dona Louisa. E não sei o que ele vai dizer quando encontrar vocês aqui. — Só estamos aqui para ajudar sua mãe. Não acredito que ele crie problemas. — Será que não? Os dois ergueram o rosto para George Davis, parado diante deles, sangue e visgo de cavalo ensopando sua camisa e gotejando dos braços. A poeira rodopiava em volta de suas pernas como ondas de calor, como se a montanha tivesse gerado um deserto. Billy se colocou na frente de Lou. — Pai. Como está o potro? — Morto. — O modo como ele disse isso fez cada parte de Lou tremer. George apontou. — Que diabo ela está fazendo aqui? — Fui buscar as duas para ajudarem com o bebê. A dona Louisa está com a mãe. George olhou para a porta e depois novamente para Billy. O brilho em seu olhar foi tão terrível que Lou achou que o homem ia matá-la naquele instante.
— Aquela mulher em minha casa, garoto? — Está na hora. — Todos olharam para a porta onde Louisa estava agora de pé. — O bebê está chegando — dizia ela. Davis empurrou o filho para o lado e Lou saiu do caminho quando ele começou a avançar para a porta. — Maldição, você não tem nada a fazer aqui, mulher! Tire o rabo da minha terra antes que eu pegue a espingarda e lhe dê uma coronhada na cabeça. Em você e nessa maldita garota. Louisa não deu um único passo atrás. — Se quiser venha me ajudar com o bebê. Se não quiser, o problema é seu. Venham cá, Lou, e você também, Billy. vou precisar de vocês dois. Estava, no entanto, bem claro que George não ia deixá-los ir. Quanto a Louisa, embora ela fosse muito forte para sua idade, e mais alta que Davis, uma luta entre os dois estaria fora de cogitação. E então, vindo da mata, eles ouviram o grito. Era o mesmo som que Lou tinha ouvido na primeira noite que fora ao poço, só que agora parecia ainda mais horripilante, como se a coisa, fosse o que fosse, estivesse muito perto e pronta para se lançar sobre eles. Mesmo Louisa olhou apreensivamente para a escuridão. George Davis deu um passo atrás fechando a mão, como se esperasse que houvesse um revólver ali. Louisa agarrou as crianças e levou-as com ela. Davis não fez qualquer movimento para detê-los, mas gritou: — Garanta que desta vez vai ser a droga de um garoto. Se for uma menina, deixe que morra. Está me ouvindo? Não preciso de mais uma maldita garota! Enquanto Sally fazia força, o coração de Louisa se acelerava. Foi ela a primeira a ver as nádegas do bebê, seguidas por um dos pés. Sabia que não tinham muito tempo. Era preciso tirar a criança antes que o cordão umbilical ficasse imprensado entre a cabeça do bebê e os ossos de Sally. Enquanto ela olhava, as dores empurraram o outro pé. — Lou — disse ela —, venha aqui, menina, depressa! Louisa pegou o pé do bebê com a mão direita e levantou o corpo para que as contrações não tivessem de carregar todo o peso da criança e para que se formasse um ângulo melhor para a saída da cabeça. Por sorte, após tantos partos, os ossos de Sally Davis tinham se alargado bastante. — Empurre, Sally, empurre, querida — pedia Louisa. Louisa pegou as mãos de Lou e dirigiu-as para um ponto no baixo-ventre de Sally. — Vamos tirar rapidamente a cabeça — disse ela a Lou. — Comece a empurrar aí, o mais forte que puder. Não se preocupe porque não está machucando de jeito nenhum o bebê. A parede da barriga é muito resistente. Lou começou a aplicar toda a sua força enquanto Sally fazia força e gritava, e Louisa erguia cada vez mais o corpo do bebê. Louisa ia proclamando a saída como se estivesse marcando a profundidade da água no casco de um barco de rio. O pescoço, dizia ela, o cabelo! De repente, a cabeça inteira apareceu. Ela estava segurando a criança no ar, dizendo que Sally podia descansar, que havia acabado. Louisa fez uma prece de agradecimento ao ver que era um menino. A criança, porém, era terrivelmente pequena, e muito pálida. Ela mandou Lou e Billy esquentarem vasilhas de água, amarrou o cordão umbilical em dois pontos com o novelo de barbante e depois cortou o cordão entre esses pontos com uma tesoura fervida. Enrolou o cordão num dos panos limpos e secos que Lou tinha dourado no fogão e encaixou cuidadosamente outro desses panos contra o lado esquerdo do bebê. Usou um óleo adocicado para limpar o bebê, lavou-o com sabão e água quente, depois enrolou-o num cobertor, e o entregou à mãe.
Louisa pôs a mão na barriga de Sally e percebeu que o útero continuava duro e pequeno, exatamente como ela queria. Se estivesse grande e macio, talvez houvesse alguma hemorragia interna, ela murmurou para Lou. A barriga estava baixa, firme. — Tudo em ordem — disse, para alívio de Lou. Então Louisa pegou o recém-nascido e colocou-o na cama. Tirou uma pequena ampola de cerâmica do balde de madeira, e de dentro da ampola um pequeno frasco com uma solução. Mandou Lou manter abertos os olhos do bebê enquanto pingava duas gotas dentro de cada um. A criança se sacudia e gritava. — Assim o bebê não ficará cego — disse Louisa. — Quem me deu foi Travis Barnes. Os médicos dizem que se deve fazer isso. Usando as vasilhas de água quente e alguns cobertores, Louisa improvisou uma tosca incubadeira e colocou o bebê lá dentro. A respiração da criança estava tão superficial que ela passou uma pena de ganso na boca para ver se o fluxo de ar a encrespava. Quinze minutos depois das últimas contrações terem concluído o parto, Louisa e Lou já tinham arrumado tudo, trocado de novo os lençóis e limpado a mãe com os últimos panos que Lou levara ao forno. As últimas coisas que Louisa tirou de seu balde de madeira foram um lápis e uma folha de papel, passando-os a Lou. Mandou que a menina escrevesse a data e a hora. Louisa tirou um velho relógio de corrente do bolso da calça e disse a Lou qual fora a hora do nascimento. — Sally, como o bebê vai se chamar? — perguntou Louisa. Sally olhou para Lou. — Ela chamou você de Lou. Esse é o seu nome, menina? — perguntou Sally numa voz fraca. — É. Bem, é mais ou menos. — Então ele também vai ser Lou. Em homenagem a você, criança. E obrigada. Lou ficou muito espantada. — E seu marido não vai dar opinião? — Ele pouco se importa se o bebê tem nome ou não tem. Só vai querer saber se é um garoto capaz de trabalhar. Além disso, nem veio para ajudar. O nome dele é Lou. Coloque aí, menina. Louisa sorriu quando Lou escreveu o nome Lou Davis. — Vamos dar isso ao Cotton — disse Louisa. — Ele vai registrá-lo no fórum para que todo mundo saiba que temos outra bela criança nesta montanha. Sally adormeceu e Louisa ficou ali sentada com a mãe e o filho a noite inteira, acordando Sally para dar de mamar quando Lou Davis chorava e seus lábios estalavam. George Davis não entrou no quarto uma única vez. Puderam ouvi-lo andar algum tempo na sala, e depois a porta da frente bater. Louisa foi várias vezes ver as outras crianças. Deu a Billy, Jesse e ao outro menino, cujo nome Louisa não sabia, um vidrinho com melado e alguns pãezinhos que tinha trazido. Cortoulhe o coração ver com que rapidez as crianças devoraram aquela refeição tão simples. Deu também a Billy um potinho de geleia de morango e uma broa de milho, mandando que ele guardasse para quando as outras crianças acordassem. Foram embora no final da manhã. A mãe estava bem e a cor do bebê tinha melhorado consideravelmente. Ele estava mamando com avidez e os pulmões pareciam fortes. Sally e Billy agradeceram e mesmo Jesse conseguiu dar um resmungo de gratidão. Mas Lou
reparou que o fogão estava frio e que não havia cheiro de comida. George Davis fora para as roças com os peões que estava pagando. Antes, no entanto, que Billy fosse se juntar a eles, Louisa chamou o menino de lado e conversou com ele sobre coisas que Lou não pôde ouvir. Na carroça, no caminho de volta, as duas passaram por currais onde o número de vacas era suficiente para ser qualificado como rebanho. Viram também porcos, ovelhas, um cimentado cheio de galinhas, quatro bons cavalos e umas oito mulas. As plantações se estendiam até onde os olhos podiam ver e o perigoso arame farpado circundava tudo. Lou viu George e seus homens trabalhando nas roças com equipamento mecanizado. A rapidez das máquinas ia levantando nuvens de terra. — São donos de mais terras e gado que nós — disse Lou. — Como é possível que não tenham nada para comer? — Porque George Davis quer assim. E o pai de George agiu da mesma maneira com ele. Segurar cada dólar. Não deixar escapar uma só raiz. Louisa mostrou o grande cadeado na porta do barracão na beira da estrada. — George prefere deixar a carne apodrecer neste defumador a dá-la aos filhos. Ele vende o que produz até a última migalha. Vende para os lenhadores, os mineiros e leva uma boa parte para Tremont e Dickens. — Ela apontou para uma grande construção com uma fileira de portas no andar de baixo. As portas estavam abertas e via-se claramente, no interior, grandes folhagens verdes penduradas em ganchos. — Isto é tabaco de folha fina. Uma variedade que enfraquece o solo, mas ele também vende tudo, fora, é claro, o que masca. Tinha aquela destilaria e nunca tomou uma única gota do uísque. Mas vendia a maldita coisa para homens que deviam gastar seu dinheiro e passar suas folgas com as famílias. E George andava por aí com um gordo rolo de dólares no bolso, tão gordo que deu para comprar esta bela fazenda, com tantas máquinas incríveis. E é aqui que ele deixa a família morrer de fome. — Ela agitou as rédeas. Bem, em certo sentido não deixo de sentir pena dele. George Davis é a alma mais miserável que já encontrei. Um dia Deus deixará George saber exatamente o que Ele pensa de tudo isso. Mas esse dia não acontecerá aqui. CAPÍTULO VINTE E OITO Eugene ia na boleia da carroça puxada pelas mulas. Oz, Lou e Diamante iam atrás, sentados em sacos de semente e outras mercadorias compradas no McKenzie's Mercantil. Tinham usado o dinheiro dos ovos e alguns dólares que haviam sobrado da excursão que Lou fizera a Dickens. A estradinha aproximou-os de um afluente do rio McCloud, um riozinho de bom tamanho, e Lou ficou espantada ao ver automóveis e carroções com toldo parados na relva, perto da margem quase plana. Havia gente circulando junto ao rio e algumas pessoas estavam entrando na água barrenta, cuja superfície parecia agitada em virtude da chuva que caíra mais cedo e de um pouco de vento. Um homem com as mangas da camisa arregaçadas tinha acabado de mergulhar uma moça na água. — Molhação! — exclamou Diamante. — Vamos dar uma olhada. Eugene fez as mulas pararem e as três crianças saltaram. Lou olhou para Eugene, que não parecia ter qualquer intenção de acompanhá-los. — Você não vem? — Pode ir, dona Lou, vou ficar um pouco por aqui. Lou franziu a testa, mas correu atrás dos outros. Diamante abrira caminho através de uma multidão de gente e olhava ansioso para alguma coisa. Quando Oz e Lou chegaram perto dele e viram o que era, deram um salto para trás.
Uma mulher idosa, com uma fita comprida de cânhamo dando um laço na cintura e um turbante na cabeça feito com lençóis espetados com alfinetes, movia-se cadenciadamente em pequenos círculos. Ela cantava algo ininteligível, pois a fala parecia de uma pessoa embriagada, insana ou de alguma fanática religiosa tentando falar línguas confusas e estranhas. Perto dela havia um homem de camiseta e calças muito folgadas, cujo cigarro caía da boca como folha seca. Ele tinha uma serpente em cada mão. Estavam rígidas, paradas como pedaços contorcidos de metal. — São venenosas? — murmurou Lou para Diamante. — É claro! Eles só trabalham com tremendas víboras. Um Oz assustado não tirava os olhos das duas criaturas imóveis e parecia pronto a saltar para as árvores assim que elas começassem a se mexer. Lou percebeu a coisa e, quando as cobras começaram a se mexer, agarrou a mão de Oz e se afastou com ele. com uma certa relutância, Diamante seguiu-os até o outro lado da barreira de gente. — O que estão fazendo com aquelas cobras, Diamante? perguntou Lou. — Enxotando os maus espíritos, tornando o rio bom para molhações. — Olhou para eles. — Vocês dois não querem ser molhados? — Batizados, Diamante — disse Lou. — Já fomos batizados numa igreja católica. E o padre só borrifou água em nossa cabeça. — Olhou para o rio, onde uma mulher vinha à tona cuspindo montanhas de água. — Ele não tentou nos afogar. — Igreja Católica? Nunca ouvir falar disso. É novo? Lou quase riu. — Não de todo. Nossa mãe é católica. Papai nunca se interessou muito por igrejas. Os padres têm suas próprias escolas. Eu e Oz estudamos numa delas em Nova York. É realmente organizada e você aprende coisas como os sacramentos, o credo, o rosário e o padre-nosso. E aprende sobre os pecados mortais. E pecados veniais. E faz a primeira confissão e a primeira comunhão. Depois se crisma. — É — disse Oz —, e quando a pessoa está morrendo ela recebe a... que coisa é, Lou? — O sacramento da extrema-unção. Os últimos ritos. — Assim você não vai ficar queimando no inferno — Oz informou a Diamante. Diamante puxou três ou quatro de seus topetes e olhou-os realmente espantado. — Ei, quem imaginaria que acreditar em Deus dava tanto trabalho! Provavelmente é por isso que não existem muitos católicos por aqui. Esquenta demais a cabeça. Diamante se virou para o grupo perto do rio. — Aqueles são da Igreja Batista primitiva — explicou. E têm umas regras realmente incríveis. Como as mulheres não poderem cortar o cabelo nem usar pintura na cara. E têm ainda algumas ideias especiais sobre ir para o inferno e coisas assim. Se as pessoas violarem essas regras não vão se dar muito bem. Viver e morrer pelas Escrituras... Provavelmente não são tão detalhistas quanto vocês, católicos, mas ainda assim têm muita coisa com que se preocupar. — Diamante bocejou e se espreguiçou. — É por isso, percebem, que não vou à igreja. Ou melhor, é como se eu tivesse uma igreja em cada lugar onde estou. Se quero falar com Deus, eu digo: "como vai-como vai Deus", e conversamos um pouco. Lou olhou para ele, absolutamente estupefata com aquele derramamento de sabedoria eclesiástica do professor de religião Diamante Skinner. Diamante baixou a cabeça meio espantado. — Bem, é assim que eu vejo a coisa. Todos repararam quando Eugene desceu até a beira d'água e falou com alguém, que por sua vez gritou para o pastor, que estava trazendo à tona uma nova vítima. O pastor veio para terra firme, conversou um minuto ou dois com Eugene e levou-o para a água, fazendo-o submergir até que todo o seu corpo sumisse. Depois começou a pregar sobre as
águas. Conservou Eugene tanto tempo submerso que Lou e Oz ficaram preocupados. Mas então Eugene veio sorrindo à superfície, agradeceu ao pastor e voltou para a carroça. Nesse momento também Diamante disparou numa corrida em direção ao pastor, que olhava em volta à procura de quem mais quisesse se submeter à divina imersão. Lou e Oz chegaram cuidadosamente para mais perto quando Diamante entrou na água com o homem santo e foi também mergulhado no rio. Ele finalmente veio à tona, conversou um minuto com o homem, colocou furtivamente alguma coisa no bolso dele e, ensopado e sorridente, voltou a se juntar a Lou e a Oz. Voltaram todos à carroça. — Então você ainda não tinha sido batizado? — perguntou Lou. — Ora — disse Diamante sacudindo a água do cabelo, cujos topetes não tinham sido nem um pouco desmanchados —, é a nona vez que sou mergulhado. — Só se deve fazer isto uma vez, Diamante! — Bem, não custa continuar fazendo. Planejo chegar aos cem mergulhos. Quando chegar lá, já devo ter ganho uma chave para o céu. — Não é assim que funciona — exclamou Lou. — É assim — revidou ele. — É o que diz na Bíblia. Cada vez que se mergulha Deus manda um anjo para tomar conta da pessoa. Aposto que já consegui um bom regimento. — Isto não está na Bíblia — insistiu Lou. — Talvez você devesse ler de novo sua Bíblia. — Em que parte da Bíblia isso está? Me diga. — Na parte da frente. — Diamante assobiou para Jeb, correu o resto do caminho para a carroça e subiu. — Ei, Eugene — disse ele —, aviso você quando estiverem batizando de novo. Podemos até nadar juntos. — Você não era batizado, Eugene? — Lou perguntou instalando-se com Oz no banco da carroça. Ele balançou negativamente a cabeça. — Mas fiquei com uma vontade louca de ser. Só espero que ainda tenha dado tempo. — É incrível que Louisa nunca o tenha batizado. — Dona Louisa acredita em Deus com toda a sua alma, mas não está ligada a nenhuma igreja. Acha que Deus só fica irritado com o modo como algumas pessoas frequentam as igrejas. Quando a carroça começou a andar, Diamante tirou do bolso um vidrinho com uma tampinha de lata. — Ei, Oz, consegui isto do pastor. A água benta do mergulho. — Entregou a Oz, que examinou a água com ar curioso. — Por que não coloca um pouco na sua mãe de vez em quando. Aposto que ela cura. Lou ia protestar quando recebeu o maior choque de sua vida: Oz devolveu o vidrinho a Diamante. — Não, obrigado — disse ele em voz baixa e virou a cara. — Tem certeza? — perguntou Diamante. Quando Oz disse que tinha realmente certeza, Diamante inclinou a garrafinha e derramou a água benta. Lou e Oz trocaram um olhar, e o ar triste no rosto do menino de novo a espantou. Lou, então, olhou para o céu, pois percebeu que se Oz perdera a esperança o fim do mundo não devia estar longe. Ela virou as costas para os dois e fingiu estar admirando a curva das montanhas. Era final de tarde. Cotton acabara de ler para Amanda e era evidente que experimentava um crescente sentimento de frustração. Lou espiava da janela, trepada num balde virado. Cotton olhava para a mãe.
— Agora eu sei, Amanda, que você me escuta. Não esqueça que tem dois filhos que precisam muito de você. Tem de sair dessa cama. Se não por outra razão, ao menos por eles. — Cotton fez uma pausa, talvez para escolher cuidadosamente as palavras. — Por favor, Amanda. Eu daria tudo para vê-la se levantar neste exato minuto. — Transcorreram alguns instantes ansiosos, com Lou prendendo a respiração, mas a mulher não se mexeu. Por fim, Cotton, desesperançado, abaixou a cabeça. Mais tarde, quando ele saía da casa e entrava no Oldsmobile, Lou correu com uma cesta de comida. — Acho que ler deixa a pessoa com fome. — É, obrigado, Lou. Ele pôs a cesta de comida no banco do carona. — Louisa me disse que você é escritora. Sobre o que escreve? Lou ficou de pé no estribo do conversível. — Meu pai escrevia sobre este lugar, mas até agora ele não me inspirou. Cotton contemplou as montanhas. — Na realidade, seu pai foi uma das razões que me trouxe aqui. Quando eu estava na faculdade de direito da Universidade da Virginia, li seu primeiro romance e fiquei impressionado pela força e beleza do livro. Então li um artigo no jornal sobre ele. Seu pai falava de como as montanhas o tinham inspirado. Achei que, se viesse para cá, as montanhas fariam o mesmo comigo. Caminhava com bloco e caneta em punho, esperando que belas frases se destilassem em minha cabeça para que eu as colocasse no papel. — Ele sorriu com ar pensativo. — Não foi exatamente assim que a coisa funcionou. — Acho que para mim também não — disse Lou em voz baixa. — Bem, parece que as pessoas passam a maior parte de suas vidas correndo atrás de alguma coisa. Talvez faça parte do que nos torna humanos. — Cotton apontou para a estrada. Está vendo aquela velha cabana lá embaixo? — Lou contemplou a cabana de madeira. Estava abandonada, caindo aos pedaços, as paredes cheias de limo. — Louisa me falou de uma história que seu pai escreveu quando menino. Era sobre uma família que passou um inverno inteiro ali. Sem lenha ou comida. — Como conseguiram sobreviver? — Acreditavam em certas coisas. — Em quê? Poços dos desejos? — perguntou ela num tom de zombaria. — Não. Acreditavam uns nos outros. E realizaram uma espécie de milagre. Alguns dizem que a verdade é mais estranha que a ficção. Acho que querem dizer que qualquer coisa que se possa imaginar realmente existe em alguma parte. Não é uma incrível possibilidade? — Não sei se minha imaginação é assim tão boa, Cotton. Na realidade, eu nem mesmo sei se sou uma verdadeira escritora. As coisas que ponho no papel não parecem ter muita vida. — Insista, você pode ter uma surpresa. Porque tenha certeza, Lou, milagres realmente acontecem. Você e Oz terem vindo para cá e terem conhecido Louisa já foi um deles. Naquela noite, na hora de dormir, Lou estava sentada na cama, contemplando as cartas da mãe. Quando Oz entrou, ela as escondeu apressadamente sob o travesseiro. — Posso dormir com você? — perguntou Oz. — Fiquei meio assustado lá no quarto. Tenho certeza que vi alguma coisa se mexendo no canto. — Suba aqui — disse Lou, e Oz foi para junto dela. — Quando você se casar — disse Oz com um súbito ar de preocupação —, com quem vou dormir quando ficar com medo, Lou? — Um dia você vai crescer e sou eu quem vai correr para perto
de você. Sou eu quem vai estar com medo. — Como sabe disso? — Porque é o jogo que Deus faz entre as irmãs e seus irmãos caçulas. — vou crescer e ficar maior que você? Verdade? — Já reparou como as pessoas daqui ficam altas? Você ainda vai crescer muitos centímetros e ficar mais alto que Eugene. Contente, Oz se aconchegou contra ela. E então viu as cartas debaixo do travesseiro. — O que é isso? — Umas cartas velhas, que mamãe escreveu — disse Lou rapidamente. — O que ela dizia? — Não sei, ainda não li. — Não vai ler as cartas pra mim? — Oz, já é tarde e estou cansada. — Por favor, Lou. Por favor! Ele parecia tão desprotegido que Lou pegou uma das cartas e suspendeu o pavio do lampião de querosene na mesinha de cabeceira. — Tudo bem, mas só uma. Oz se recostou quando Lou começou a ler. "Cara Louisa, espero que esteja tudo bem com você. Estamos bem aqui. Oz superou o crupe e está dormindo a noite inteira." Oz deu um pulo. — Sou eu! Mamãe escreveu sobre mim! — Ele fez uma pausa e pareceu confuso. — O que é crupe? — Nem queira saber. Mas você quer que eu leia ou não? — Oz tornou a se recostar enquanto a irmã voltava a ler. "Lou tirou primeiro lugar no concurso de soletrar e no arremesso de argolas da festa da escola. Na última prova havia até meninos! Ela é incrível, Louisa! Jack me mostrou uma foto sua e acho que Lou é muito parecida com você. Os dois estão crescendo depressa. Tão depressa que chego a me assustar. Lou tem muitas afinidades com o pai. Seu raciocínio é tão rápido que fico com medo que ela me ache um tanto maçante. Essa ideia me faz passar noites acordada. Eu a amo demais. Tento fazer o máximo que posso, mas mesmo assim, bem, você sabe, um pai e sua filha... Da próxima vez falo mais. E mando fotografias. Amo você, Amanda. P.S.: Meu sonho é visitar os montes com as crianças, para que possamos finalmente conhecê-la. Espero que um dia este sonho se torne realidade." — Foi uma boa carta — disse Oz. — Boa-noite, Lou. Quando Oz começou a mergulhar no sono, Lou estendeu lentamente a mão para pegar outra carta. CAPÍTULO VINTE E NOVE Lou e Oz estavam seguindo Diamante e Jeb pelos bosques num esplêndido dia do início do outono, os salpicos de sol nos rostos, uma brisa fresca os acompanhando com os últimos aromas das madressilvas e das rosas selvagens do verão. — Aonde estamos indo? — perguntou Lou. — Você vai ver — respondeu Diamante num tom misterioso. Subiram uma pequena rampa e pararam. A quinze metros dali, parado no caminho, estava Eugene carregando um balde de carvão vazio e um lampião. Em seu bolso havia uma banana de dinamite. — Eugene vai até a mina — disse Diamante. — Vai encher aquele balde. Antes da chegada do inverno, ele ainda vai muitas vezes com as mulas até lá. É preciso juntar uma boa carga de carvão. — Bem, ir atrás dele vai ser tão emocionante quanto ver alguém dormir. — Era a opinião abalizada de Lou. — É? Espere até aquela dinamite explodir — revidou Diamante. — Dinamite? — perguntou Oz, surpreso. Diamante abanou a cabeça. — O carvão está muito no fundo da rocha. A picareta não pode tirá-lo. E preciso explodir.
— Não é perigoso? — perguntou Lou. — De jeito nenhum. Ele sabe o que está fazendo. Eu mesmo já fiz. Continuaram olhando de longe, vendo Eugene tirar a dinamite do bolso e prendê-la a um grande pavio. Então ele acendeu o lampião e entrou na mina. Diamante se recostou numa macieira, tirou uma maçã e cortou-a. Atirou um pedaço para Jeb, que estava cavando em volta de um arbusto. O garoto notou as fisionomias preocupadas de Lou e Oz. — Aquele pavio vai queimar muito devagar. Dá tempo de ir e voltar até a lua antes da explosão. Pouco depois, Eugene saiu da mina e sentou-se numa pedra junto à entrada. — Ele não devia sair dali? — Não. Não se usa assim tanta dinamite para encher apenas um balde. Depois que houver a explosão e a poeira assentar, mostro a vocês como é lá dentro. — O que há para se ver numa velha mina? — perguntou Lou. Diamante se inclinou repentinamente para a frente. — Quer saber de uma coisa? Certa noite, bem tarde, vi uns sujeitos fuçando por aqui. Se lembram da dona Louisa me dizendo para manter os olhos abertos? Bem, foi o que eu fiz. Eles tinham lanternas e carregaram caixas para a mina. Vamos entrar e ver o que aprontaram. — E se eles ainda estiverem na mina? — Nada disso. Passei há pouco tempo por aqui, olhei em volta, atirei uma pedra lá dentro. E há pegadas frescas na terra na entrada da mina. Além disso, Eugene os teria visto. — Ele teve uma súbita ideia. — Ei, talvez eles queiram montar uma destilaria e estejam usando a mina pra guardar o alambique, o milho e coisas parecidas! — É mais provável que fossem pessoas sem-teto usando a mina para se protegerem do sereno — disse Lou. — Nunca ouvi falar de pessoas sem-teto por aqui. — Então por que não contou a Louisa? — desafiou Lou. — Ela já tem muito com o que se preocupar. O certo é dar uma olhada primeiro. É o que um homem faz. Enquanto todos olhavam para a mina, à espera da explosão, Jeb deu uma corrida num esquilo e ficou rodando embaixo da árvore onde ele subiu. — Por que não vem morar conosco? — perguntou Lou. Diamante a encarou, claramente perturbado com a pergunta, ele se virou para a cachorro. — Pare com isso, Jeb. Esse esquilo não está lhe fazendo nada! — Podia nos ajudar, não é? — acrescentou Lou. — Seria mais um homem forte em casa. Jeb também podia ir. — Não. Sou um sujeito que precisa de sua liberdade. — Ei, Diamante — disse Oz —, você podia ser meu irmão mais velho. Então Lou não teria de bater em todo mundo sozinha. Lou e Diamante sorriram um para o outro. — Talvez devesse pensar no assunto — disse Lou. — Talvez pense. — Ele olhou para a mina. — Agora não vai demorar. Recostaram-se e ficaram à espera. Então o esquilo desceu correndo da árvore e disparou para dentro da mina. Quando Jeb se arremessou atrás dele, Diamante deu um pulo: — Jeb! Jeb! Volte aqui! — O menino saiu correndo. Eugene fez um gesto para pegá-lo, mas Diamante se esquivou e entrou correndo na mina. — Diamante! — gritou Lou. — Não! Ela também correu para a entrada da mina. — Lou, não! — gritou Oz. — Volte! Antes que Lou atingisse a entrada, Eugene a agarrou. — Fique aqui. Eu vou pegá-lo, dona Lou! Eugene mancou muito depressa para o interior da mina, gritando: — Diamante! Diamante! Lou e Oz olharam um para o outro, aterrados. O tempo se
escoava. Lou começou a andar em círculos nervosos perto da entrada. — Por favor, por favor. Depressa. — Ela foi até a entrada e ouviu alguma coisa vindo. — Diamante! Eugene! Mas foi Jeb que saiu correndo da mina atrás do esquilo. Lou agarrou o cachorro e então o abalo da explosão tirou o equilíbrio dos seus pés. Poeira e grãos de terra saíram da mina, e o redemoinho fez Lou tossir e se engasgar. Oz correu para ajudá-la enquanto Jeb latia e pulava. Conseguindo recuperar o fôlego e o equilíbrio, ela cambaleou para a entrada. — Eugene! Diamante! Finalmente, ouviu passos se aproximando. Os passos avançavam, mas pareciam instáveis. Lou rezou em silêncio. A coisa pareceu demorar eternamente, mas então Eugene apareceu, tonto, coberto de sujeira, sangrando. Olhou para eles com lágrimas no rosto. — Maldição, dona Lou... Lou deu um passo atrás, depois outro e mais outro. Aí se virou e desceu a trilha da entrada o mais depressa que pôde, seus gritos dominando tudo. Alguns homens carregaram o corpo coberto de Diamante para uma carroça. Tinham tido de esperar um pouco até a fumaça se dissipar e poderem ter certeza de que a mina não ia desabar. Cotton viu os homens levarem Diamante e foi falar com Eugene, que estava sentado num pedregulho, segurando um pano molhado contra a cabeça ensanguentada. — Eugene, tem certeza de que não precisa de mais nada? Eugene olhou para a mina como se ainda esperasse ver Diamante saindo com seu cabelo revolto e sorriso tonto. — Tudo que eu precisava, Dr. Cotton, era que isto fosse um sonho mau do qual se pudesse acordar. Cotton deu um tapinha no ombro forte de Eugene e contemplou Lou sentada num grande monte de terra, de costas para a mina. Aproximou-se e sentou ao lado dela. Os olhos de Lou estavam injetados de tanto chorar, o rosto manchado de lágrimas. Toda curvada, parecia formar uma pequena bola, como se cada parte dela sofresse de uma dor lancinante. — Sinto muito, Lou. Diamante era um ótimo garoto. — Era um homem. Um ótimo homem! — Acho que tem razão. Era um homem. Lou olhou para Jeb, sentado pesarosamente na entrada da mina. — Diamante não tinha nada que entrar naquela mina atrás de Jeb. — Bem, esse cachorro era tudo que Diamante possuía. Quando se ama alguém, não se pode simplesmente ficar sentado vendo-o morrer. Lou tirou umas folhas de um pé de pinheiro próximo e deixou-as escorrer entre os dedos. Minutos se passaram antes dela falar de novo. — Por que essas coisas acontecem, Cotton? Ele suspirou fundo. — Suponho que seja o meio de Deus nos dizer para amar as pessoas enquanto elas estão aqui, pois amanhã podem não estar. Acho que é uma resposta realmente deplorável, mas infelizmente é a única que tenho. O silêncio se prolongou um pouco. — Eu gostaria de ler para minha mãe — disse Lou. — É a ideia mais incrível que já ouvi. — Por que incrível? — perguntou ela. — Queria realmente que me dissesse! — Bem, se alguém que Amanda conhecesse, alguém que... amasse, lesse para ela, isso podia fazer muita diferença. — Acha realmente que ela sabe? — No dia em que carreguei sua mãe para fora, eu estava segurando uma pessoa viva, alguém que travava uma batalha feroz para sair daquela situação. Pude sentir a coisa. E um dia ela vai vencer a batalha. Acredito nisso de todo o coração, Lou.
Ela balançou a cabeça. — É difícil, Cotton, amar uma coisa que você sabe que pode nunca ter. — É muito esperta para a sua idade. — Cotton abanou lentamente a cabeça. — E é perfeito o sentido do que você disse. Mas acho que, quando se trata das coisas do coração, uma lógica perfeita é a última coisa que vai ter importância. Lou deixou o resto das folhas caírem e esfregou as mãos. — Você é um bom sujeito, Cotton. Cotton pôs o braço em volta dela e ficaram ali sentados, nenhum dos dois com vontade de olhar para a enorme cavidade escura da mina de carvão, o buraco que tinha levado para sempre o amigo deles.
CAPÍTULO TRINTA Graças a uma boa quantidade de chuvisco contínuo, complementada por alguns temporais, virtualmente todas as colheitas vieram saudáveis e abundantes. Um granizo forte estragou alguns pés de milho, mas os danos foram de pouca monta. Alguns minutos de poderosa chuva tinham aberto um barranco numa colina, como uma colher tirando um pedaço de sorvete, mas nenhuma pessoa, nenhum animal ou plantação havia sido atingido. O tempo da colheita tocou-os em cheio, e Louisa, Eugene, Lou e Oz trabalharam duro e por muito tempo, o que foi bom, porque isso deu a eles menos tempo para pensar no fato de Diamante não estar mais ali. De vez em quando, ouviam a sirene da mina e depois, um pouco mais tarde, o lento estrondo de uma explosão. A cada ronco, Louisa começava a cantar e era seguida pelos outros, fazendo-os esquecer que a morte de Diamante fora provocada por aquela coisa terrível. Louisa não fez muitos comentários sobre o que acontecera a Diamante. Lou, no entanto, reparou que ela lia a Bíblia com muito mais frequência perto do fogo e que seus olhos se enchiam de lágrimas sempre que o nome do menino era mencionado, ou quando olhava para Jeb. Foi difícil para todos eles, mas tudo que podiam fazer era mergulhar no trabalho, e tinham muito trabalho pela frente. Colheram o feijão-rajadinho, colocaram os grãos em sacos Chop, pisaram-nos para quebrar os restos de vagem e passaram a comê-los toda noite no jantar. Sempre com ensopado e farinha. Cuidavam também das vagens de feijão que cresciam em volta dos pés de milho, pois era preciso, como Louisa ensinara, lutar contra os parasitas que viviam sob as folhas e que davam urticária. Eles tiravam as espigas e faziam trouxas com a base dos pés. As trouxas seriam deixadas na roça e mais tarde usadas para alimentar o gado. Também debulhavam o milho, levavam-no de trenó para o celeiro e enchiam o depósito até ele quase transbordar. A distância, as espigas caindo pareciam vespas amarelas em frenética agitação. As batatas brotaram grandes, fartas, e constituíam, misturadas com a manteiga feita em casa, uma refeição em si mesmas. Os tomates também brotaram muito gordos e muito vermelhos. Eram comidos inteiros ou em fatias, às vezes picados e arrumados em vidrinhos que também acondicionavam feijões, pimentões e muitos outros vegetais. Os vidros eram postos no guarda-comida e sob os degraus. Também enchiam baldes de madeira com morangos silvestres, framboesas e toneladas de maçãs. E faziam geleias e tortas, guardando o que sobrava em jarras de vidro. Naquele dia moeram talos de cana, fizeram melado, debulharam um pouco do milho e prepararam fubá com torradas de pão preto. Lou achou que nada estava sendo desperdiçado; era um processo eficiente, que ela admirou, mesmo que ela e Oz tivessem se matado de trabalhar desde antes do nascer do sol até muito depois do escurecer. Para todo lado que se voltavam com suas ferramentas, a comida se derramava sobre eles. Isto fazia Lou pensar em Billy Davis e sua família, que nada tinham para comer. E pensou tanto nisso que acabou tocando no assunto com Louisa. — Amanhã fique acordada até um pouco mais tarde, Lou. Vai ver que você e eu estamos na mesma linha de pensamento. No dia seguinte, tarde da noite, todos estavam esperando no celeiro. De repente ouviram uma carroça descendo a estrada. Eugene suspendeu o lampião e a luz caiu sobre Billy Davis. Ele detinha as mulas e olhava ansioso para Lou e Oz. Louisa se aproximou da carroça. — Billy, achei que poderia precisar de alguma ajuda. Quero ter certeza de que vai levar uma boa carga. Este ano a terra foi realmente generosa conosco.
Por um momento, Billy pareceu constrangido, mas Lou interveio: — Ei, Billy — disse ela —, vamos lá, vou precisar do seu músculo para levantar este balde. Assim encorajado, Billy pulou para ajudar. Todos passaram pelo menos uma hora carregando sacos de fubá, vidros cheios de feijões e de tomates, baldes com nabos, couves, pepinos, batatas, maçãs, repolhos, peras, batatas-doces, cebolas. Até uns cortes de carne de porco salgada foram para aquela carroça. Enquanto estava ajudando, Lou viu Louisa levar Billy para um canto do celeiro e examinar seu rosto com um lampião. Depois ela o mandou levantar a camisa, deu uma olhada em seu peito e se afastou aparentemente satisfeita. Quando Billy manobrou a carroça e arrancou, as mulas arfaram sob o novo peso. Então o menino mostrou um grande sorriso, fez estalar o chicote e sumiu na noite. — Não podem esconder toda essa comida de George Davis — disse Lou. — Há muitos anos eles vêm fazendo isso. O homem já viu e nunca perguntou de onde vinha a doação. Lou pareceu irritada. — Não é justo. Ele vende sua colheita, ganha dinheiro e nós alimentamos a família. — O que é justo é uma mãe e seus filhos comerem bem respondeu Louisa. — Por que estava olhando embaixo da camisa dele? perguntou Lou. — George é esperto. Na maioria das vezes bate onde a roupa cobre. — Mas não seria mais fácil perguntar a Billy se ele apanhou? — As crianças costumam mentir quando estão envergonhadas. Por exemplo, quando se envergonham da lancheira vazia. com tantos excedentes, Louisa decidiu carregar a carroça e ir com os quatro até a área dos lenhadores. No dia da viagem, Cotton veio tomar conta de Amanda. Os lenhadores estavam à espera deles; na realidade, quase uma multidão se juntara para recebê-los. O campo madeireiro era grande, e possuía escola, armazém e posto de correio. Como o campo era forçado a se mudar frequentemente à medida que as florestas se extinguiam, o lugar inteiro estava sobre trilhos, incluindo as casas dos trabalhadores, a escola e o armazém. Os diferentes ramais em que se achavam as construções lembravam as ruas de um bairro. Quando chegava a hora da mudança, as locomotivas eram engatadas e, rapidamente, toda a cidadezinha partia. As famílias do campo madeireiro pagavam os produtos em dinheiro ou com artigos variados, como café, açúcar, papel higiênico, selos, lápis e papel, alguns sapatos e roupas usadas, além de jornais velhos. A égua Sue também tinha ido e Lou se revezou com Oz para levar as crianças do lugar para dar um passeio de cavalo. O passeio era gratuito, mas os clientes podiam "doar" mudas de hortelã e outros pequenos itens que parecessem adequados, e havia muitos. Mais tarde, do alto da espinha escarpada da crista da montanha, viram para onde fluía um braço do rio McCloud. Uma barragem de pedra e madeira fora erguida rio abaixo, elevando artificialmente o nível da água, cobrindo pedras e outras obstruções que pudessem dificultar o transporte das toras pelo rio. Ali a água estava cheia de uma margem à outra de troncos de árvores, em geral troncos de grandes choupos com a marca da empresa madeireira marcada na base. Vistos daquela altura, pareciam lápis, mas então Oz e Lou repararam que os pequenos pontos em cada um deles eram homens adultos, homens que manobravam as toras. Eles as faziam flutuar até a barragem, onde os calços seriam chutados e a água barulhenta carregaria as árvores rio abaixo. Posteriormente, as toras seriam amarradas e a madeira da Virginia seguiria para os mercados do Kentucky. Quando Lou, de sua altura privilegiada, examinou a terra, alguma coisa parecia estar faltando. Ela demorou um instante para perceber que havia uma ausência de árvores.
Até onde a vista alcançava, só restavam troncos caídos. Ela também notou, quando voltavam para o acampamento, que as margens da linha férrea estavam desmaiadas. — Tiramos de fato toda a madeira que podia ser tirada daqui — explicou um dos lenhadores orgulhosamente. — E em breve já vamos embora. — Ele não parecia preocupado com isso. Lou imaginou que provavelmente já estava acostumado. Conquistar a mata e seguir em frente, só deixando para trás, como único traço da presença humana, lascas de madeira. A caminho de casa, amarraram Sue na carroça, e Lou e Oz instalaram-se no banco de Eugene. Fora um bom dia para todos, mas Oz era o mais feliz, pois tinha "conquistado" uma bola oficial de beisebol de um dos garotos do acampamento. Ele a havia atirado mais longe que qualquer um deles. Oz disse que, depois do pé de coelho do cemitério que Diamante Skinner tinha lhe dado, fora o mais valioso presente que ganhara. CAPÍTULO TRINTA E UM Ao ler para a mãe, Lou não escolheu um livro, mas um exemplar do jornal Grit e algumas cópias do Saturday Evening Post que tinham conseguido no campo madeireiro. Lou se encostava na parede do quarto da mãe, o jornal ou revista suspensos na frente dela e lia sobre a economia, as catástrofes mundiais, a guerra fulminante de Hitler de uma ponta à outra da Europa, a política, as artes, os filmes e as últimas notícias de livros e escritores. Coisas que faziam Lou perceber quanto tempo se passara desde a última vez em que pusera os olhos num livro. Muito em breve as aulas começariam de novo; mesmo assim, alguns dias antes, ela fora no lombo de Sue até a escola Pinheiro Grande, onde pegara material de leitura para ela e para Oz na "seção de empréstimos" da biblioteca, obviamente com a permissão de Estelle McCoy. Louisa ensinara Eugene a ler quando ele era criança e por isso Lou trouxe também um livro para ele. O rapaz ficou preocupado, achando que não ia ter tempo, mas acabou conseguindo ler tarde da noite, sob a luz de um lampião, sempre muito concentrado, o polegar umedecido virando lentamente as páginas. Às vezes, enquanto trabalhavam nos campos preparando-se para o próximo inverno, Lou ajudava nas palavras. Também ajudava ao lado de um lampião de querosene, quando ordenhavam as vacas. Lou o conduzia pelas páginas dos Grits e dos Posts e Eugene gostava particularmente de dizer "Roooosevelt, Presidente Roooosevelt", um nome que aparecia com frequência nas páginas do Grit. As vacas o olhavam estranhamente sempre que ele dizia "Roooosevelt", como se achassem que Eugene estava mugindo para elas de um modo todo especial. E Lou não pôde deixar de abrir a boca quando Eugene perguntou por que alguém chamaria o filho de "Presidente". — Já pensou em ir morar noutro lugar? — perguntou Lou uma manhã, enquanto estavam ordenhando. — Só conheço as montanhas — disse ele —, mas sei que o mundo tem muita coisa mais. — Um dia posso levá-lo à cidade. Os prédios são tão altos que você não vai a pé até o alto. Tem de ir de elevador. — Ele a olhou com ar curioso. — É um pequeno carro que leva as pessoas pra cima e pra baixo — explicou Lou. — Um carro? Como o Hudson? — Não. Parece mais um quartinho onde se fica em pé. Eugene achou interessante, mas disse que provavelmente jamais ia sair daquelas roças. — Quero arranjar uma mulher, ter uma família, criar bem os filhos. — Você daria um bom pai. — Bem, você também seria uma ótima mãe. — Ele sorriu.
— Vejo como cuida de seu irmão. — Minha mãe era uma grande mãe. — Olhando para Eugene, Lou tentava se lembrar se alguma vez tinha dito aquilo à mãe. Sabia que toda a sua adoração se voltara exclusivamente para o pai. Algo que lhe parecia muito perturbador, pois já não podia ser remediado. Uma semana após sua ida à biblioteca da escola, Lou estava no celeiro, onde queria ficar sozinha. Fora até lá depois de ler para Amanda. Sentada no peitoril das janelas duplas do palheiro, contemplava as montanhas além do vale e pensava no deprimente futuro da mãe. Por fim, voltou seus pensamentos para a perda de Diamante. Tentava tirar aquilo da cabeça, mas sabia que jamais ia conseguir. O enterro de Diamante fora uma cerimônia estranha, mas comovente. As pessoas tinham emergido dos cantões da serra, de pequenos cafundós que Lou nem sabia que existiam. Chegavam à casa de Louisa num cavalo, num boi, numa mula. Às vezes a pé ou num trator, ou mesmo num Packard amassado, sem nenhuma das quatro portas. As pessoas andavam em grupo segurando pratos de boa comida e canecas de sidra. Não havia padres ou pastores, mas algumas pessoas se levantaram e, com vozes tímidas, deram consolo aos amigos do falecido. O caixão de cedro se achava na sala, a tampa pregada, pois ninguém tinha vontade de ver o que a dinamite fizera com Diamante Skinner. Lou não acreditava que as pessoas mais velhas fossem realmente amigas de Diamante, mas presumiu que teriam sido amigas do pai dele. Ouvira um senhor idoso, chamado Buford Rose, murmurar sobre a amarga ironia da mesma droga de mina ter dado cabo do pai e do filho. O homem tinha poucos dentes e um cabelo branco muito espesso. Levaram Diamante para descansar ao lado das sepulturas dos pais, manchas escuras cujos contornos há muito tempo haviam mergulhado na terra. Algumas pessoas leram a Bíblia e houve muitas lágrimas. Oz avançou para o centro do grupo e corajosamente anunciou que seu amigo, que tantas vezes havia se batizado, já seria dono de uma chave para o céu. Louisa depositou um ramo de flores silvestres no túmulo, deu um passo atrás, tentou falar alguma coisa mas não pôde. Cotton fez um belo elogio ao jovem amigo e lembrou algumas tiradas de um contador de histórias que ele admirava muito: Jimmy "Diamante" Skinner. — De uma certa forma — disse Cotton —, Diamante envergonharia muitos dos melhores contistas de hoje em dia. Em voz baixa, Lou dirigiu algumas palavras ao amigo que estava sob aquela terra recentemente revirada, num caixão cujo aroma adocicado a deixava meio enjoada. Mas Diamante já não estava entre aquelas tábuas de cedro, Lou sabia. Já se fora para um lugar ainda mais alto que os montes. Estaria se encontrando de novo com seu pai e vendo a mãe pela primeira vez. Certamente devia estar feliz. Lou ergueu a mão para o céu e deixou mais um adeus para alguém que passara a significar muito para ela, e que agora se fora para sempre. Alguns dias após o enterro, Lou e Oz fizeram uma excursão à casa que Diamante tinha na árvore e iniciaram um inventário de seus pertences. Obviamente, disse Lou, Diamante ia querer que Oz ficasse com o esqueleto de pássaro, a bala da Guerra Civil, a ponta de flecha de pederneira e aquele telescópio meio improvisado. — E você fica com quê? — perguntou Oz, examinando os despejos que herdara. Lou pegou uma certa caixa de onde tirou um pedaço de carvão, a pedra que supostamente continha o diamante. Definiu como sua missão polir cuidadosamente aquela pedra, pelo tempo que fosse preciso, até que o centro brilhante fosse finalmente revelado. Aí ela o enterraria com Diamante. De repente ela reparou num pedacinho de madeira jogado num canto da casa da árvore.
Antes mesmo de pegar, percebeu do que se tratava. Era uma peça cortada, parte de um objeto ainda não terminado. Um pedaço de nogueira, já no formato de um coração. De um lado, fora gravada a letra L; do outro, quase acabado, havia um D. Diamante Skinner soubera escrever as iniciais dos dois. Lou pôs no bolso o coração de madeira, o carvão, e desceu da árvore. Não parou de correr até chegar em casa. Tinham, é claro, adotado o leal Jeb. O cachorro gostava de correr em volta deles, embora às vezes ficasse deprimido, de orelhas caídas, com saudades do antigo dono. Contudo, ele também parecia gostar das viagens que Lou e Oz faziam para ver o túmulo de Diamante. Naquele modo misterioso dos animais de estimação, Jeb começava a latir e dava piruetas quando se aproximavam do túmulo. Lou e Oz espalhavam as folhas do outono sobre o monte de terra e se sentavam trocando ideias entre si e com Diamante. Relembravam, é claro, as coisas engraçadas que o menino tinha dito ou feito, e sempre havia um grande suprimento delas. Depois enxugavam os olhos e seguiam para casa, absolutamente convictos de que o espírito dele perambulava livremente naquela amada montanha, o Diamante espigado de sempre, com o mesmo sorriso largo, com os mesmos pés descalços. Diamante Skinner não tivera posses materiais e fora, no entanto, a criatura mais feliz que Lou já encontrara. Ele e Deus, sem dúvida, deviam estar se dando às mil maravilhas. Prepararam-se para o inverno afiando as ferramentas com o esmeril e a pedra de amolar, limpando as baias e espalhando o esterco sobre as roças aradas. Num ponto Louisa se enganara, pois Lou não conseguia gostar do cheiro de esterco. Mas ela e Oz cuidavam bem da criação, mantendo os animais alimentados e com boa aguada, ordenhando as vacas e cumprindo as inúmeras outras tarefas do sítio. Agora, tudo parecia tão natural quanto respirar, como por exemplo carregar coisas para a despensa semi-subterrânea: potes de leite e manteiga, jarras com hortaliças conservadas em vinagre ou salmoura, feijões ou repolhos em vidros fechados. A despensa tinha paredes grossas, de pau-apique, cheias de nódoas e rachaduras. Jornais tapavam os pontos onde o estuque se soltara. Os dois também faziam consertos, reparando tudo que apresentava problema. As aulas começaram e, confirmando as palavras do pai, Billy Davis não voltou à escola. Não houve qualquer menção de sua ausência. Era como se o garoto nunca tivesse existido. De vez em quando Lou se surpreendia pensando nele, desejando que tudo estivesse bem. Numa tarde do final de outono, após as tarefas do sítio estarem concluídas, Louisa mandou Lou e Oz tirarem as bolotas dos sicômoros que cresciam em abundância no lado sul da propriedade, onde corria um riacho. As bolotas tinham espinhos afiados, mas Louisa queria usá-las nas decorações de Natal. Embora o Natal ainda parecesse muito longe, Lou e Oz fizeram o que Louisa queria. Quando voltaram, ficaram surpresos ao ver o carro de Cotton e a casa às escuras. Sem saber muito bem o que poderiam encontrar, abriram cuidadosamente a porta. Foi então que Louisa e Eugene tiraram os panos pretos dos lampiões, fazendo a luz se derramar pela sala. "Feliz aniversário", gritaram eles e Cotton num tom de grande entusiasmo. Era o aniversário dos dois. Como Amanda contara a Louisa numa de suas cartas, Lou nascera no mesmo dia que o irmão, embora com cinco anos de diferença. Agora Lou já era oficialmente uma adolescente e Oz atingia oito maduros anos de vida. Na mesa, havia uma torta de morangos silvestres, além de xícaras de sidra quente. As duas velas que tinham sido espetadas na torta foram sopradas em conjunto por Lou e Oz. Louisa trouxe os presentes em que havia muito vinha trabalhando na máquina de costura Singer: um vestido feito com o tecido dos sacos Chop para Lou (um bonito estampado com motivos florais em verde e vermelho) e um elegante paletó, além de uma calça e uma camisa branca para Oz, cortadas a partir das roupas que
Cotton emprestara. Eugene presenteou-os com dois apitos de madeira, que emitiam diferentes tons. Assim poderiam se comunicar quando estivessem separados nos bosques ou nos confins dos campos. As montanhas mandavam um eco para o sol e do sol para a terra, dissera Louisa. Experimentaram soprar os apitos. A madeira fazia cócegas na boca dos dois, e eles riam. Cotton deu a Lou um livro de poemas de Walt Whitman. — Na área, o único superior ao meu ancestral talvez seja ele, devo humildemente reconhecer. — E então Cotton tirou de uma caixa algo que fez Oz parar de respirar. As luvas de beisebol eram belíssimas, bem lustrosas, perfeitamente confeccionadas. Tinham cheiro de couro fino, de suor e de relva de verão. Guardavam, sem dúvida, os maiores e mais bem cultivados sonhos infantis. — Ganhei essas luvas quando era garoto — disse Cotton. — Mas tenho de admitir que, embora não seja um advogado assim tão bom, sou melhor como advogado que como jogador de beisebol. São duas luvas, para você e para Lou. Ou para você e para mim, se puder suportar minha débil aptidão atlética de vez em quando. Oz disse que seria um prazer jogar com ele e apertou as luvas contra o peito. Depois comeram com vontade a torta e tomaram a sidra. Quando Oz vestiu o paletó, ele caiu muito bem; o menino ficou parecendo um pequeno advogado. Louisa deixara grandes bainhas pensando no crescimento do garoto, um crescimento que, agora, parecia acontecer a olhos vistos. E assim vestido, Oz pegou as luvas de beisebol, o apito e foi mostrar tudo à mãe. Pouco depois, Lou ouviu estranhos sons vindo do quarto de Amanda e foi verificar. Oz tinha subido num banco. Pusera um cobertor em volta dos ombros e encostara a bola de beisebol na cabeça, como se ela fosse uma coroa. O menino brandia um pedaço de pau. — E o grande Oz, o bravo, não mais o Leão Covarde, matou todos os dragões e salvou todas as mães. Todas elas viveram felizes para sempre na Virginia. — Ele tirou sua coroa de couro engraxado e fez uma série de mesuras. — Obrigado, súditos leais! Fiquem em paz! Por fim o menino se sentou ao lado da mãe, tirou um livro da mesinha-de-cabeceira e abriu-o no lugar marcado por uma tira de papel. — Tudo bem, mamãe — disse ele —, esta é a parte assustadora, mas como você sabe, a bruxa não come as crianças. Curvou-se devagar, pôs um dos braços de Amanda em volta de sua cintura e, arregalando os olhos, começou a ler a parte assustadora. Lou voltou para a cozinha, sentou-se à mesa com seu vestido de saco Chop (que também lhe caía muito bem) e começou a ler, sob o honesto clarão do querosene, as palavras brilhantes de Whitman. Ficou tão tarde que Cotton acabou passando a noite na casa, onde dormiu encolhido na frente das brasas de carvão. E foi assim que outro belo dia transcorreu na montanha. CAPÍTULO TRINTA E DOIS Sem Louisa nem Eugene suspeitarem de nada, Lou pegou um lampião, uma caixa de fósforos, montou com Oz no lombo de Sue e foi até a mina. Lou pulou da égua, mas Oz continuou montado, contemplando a boca da caverna como um portal direto para o inferno. — Não vou entrar — declarou o menino. — Então espere aqui fora — disse a irmã. — Por que você quer entrar? Não se lembra do que houve com Diamante? A montanha pode desabar em cima de você. E pode machucar um bocado. — Quero saber o que os homens que Diamante viu estavam aprontando.
Lou acendeu o lampião e entrou. Oz esperou perto da entrada. Depois desceu da égua e começou a andar de um lado para o outro. Finalmente entrou correndo, logo se emparelhando com a irmã. — Pensei que não queria entrar — disse Lou. — Achei que você podia ficar assustada — respondeu Oz agarrando-se à blusa dela. Os dois avançaram, tremendo por causa do ar frio e da tensão nervosa. Lou olhou em volta e viu canos de ferro ou traves ao longo das paredes e do teto do poço da mina. Nas paredes havia riscos, feitos talvez com tinta branca. O silvo alto que chegou até eles viera de algum ponto elevado, um pouco mais à frente. — Uma cobra? — perguntou Oz. — Só se for do tamanho do Empire State. Vamos lá. — Eles se apressaram e o silvo aumentava a cada passo. Quando viraram uma esquina, o som começou a se parecer com um escapamento de vapor. Fizeram mais uma volta, correram, completaram uma terceira curva na rocha e pararam. Os homens usavam chapéus de aba dura e carregavam lanternas de pilha, e seus rostos estavam cobertos com máscaras. No chão da mina havia um buraco, com um grande cano de metal enfiado nele. Uma máquina, que parecia uma bomba, ligava-se ao cano por uma mangueira. Era dela que vinha o silvo que chamara a atenção dos dois. Os homens estavam parados em volta do buraco, mas não viram as crianças. Lou e Oz puderam recuar furtivamente, dar meia-volta e correr. Infelizmente correram direto para Judd Wheeler. Conseguiram, no entanto, esquivar-se dele e continuar a disparada para a saída. Um minuto depois, Lou e Oz irrompiam da mina. Lou parou ao lado de Sue e subiu na égua; Oz, aparentemente sem disposição de confiar sua sobrevivência a algo tão lento quanto um cavalo, passou correndo como um foguete pela irmã e pelo animal. Lou bateu com os pés nas costelas de Sue e foi atrás do irmão. Não conseguiu, no entanto, ganhar terreno. Oz parecia mais veloz que um carro. Mais tarde, Cotton, Louisa, Lou e Oz estavam tendo uma discussão na mesa da cozinha. — Vocês foram loucos em ir até aquela mina! — dizia Louisa, furiosa. — Se não fôssemos, não teríamos visto aqueles homens respondeu Lou. Louisa engoliu a resposta. — Está bem — disse. — Agora eu preciso conversar com Cotton. Ela se virou para Cotton assim que Lou e Oz saíram. — O que você acha? — perguntou. — A julgar pela descrição feita por Lou, estavam procurando gás natural, não petróleo. E acharam. — O que devemos fazer? — Estão na propriedade sem sua autorização e sabem que já demos conta disso. Acho que vão procurá-la. — Não vou vender minha terra, Cotton! — Não precisa — disse Cotton balançando a cabeça. Pode vender apenas os direitos de prospecção mineral. E conservar a terra. O gás não é como a mineração de carvão. Não terão de destruir o solo. — Tivemos uma boa colheita. — Louisa balançou a cabeça com ar obstinado. — Não precisamos da ajuda de ninguém. Cotton olhou para o chão e falou devagar. — Espero que viva mais que todos nós, Louisa. Mas se essas crianças herdarem o sítio antes de completar a maioridade, dificilmente conseguirão enfrentar os problemas. — Ele fez uma pausa, acrescentando em voz baixa. — E Amanda pode precisar de cuidados
especiais. Louisa abanou ligeiramente a cabeça ao ouvir essas palavras, mas não disse nada. Quando Cotton arrancou com o carro, Louisa ficou apreciando Lou e Oz correrem atrás do conversível e Eugene trabalhando com disposição no conserto de alguma coisa. Era aquela a soma total de seu mundo. Tudo parecia se mover suavemente, embora tudo fosse muito frágil, ela tinha certeza. Louisa se encostou no umbral da porta com uma expressão de extremo cansaço. Os homens da Southern Valley vieram logo na tarde do dia seguinte. Louisa foi atender e Judd Wheeler apareceu na soleira da porta. A seu lado, num bonito traje passeio completo, havia um homem baixo, com olhos de cobra e sorriso escorregadio. — Sra. Cardinal, meu nome é Judd Wheeler. Trabalho na Southern Valley, Carvão e Gás. Este é Hugh Miller, vice-presidente da Southern. — E querem meu gás natural? — disse ela bruscamente. — Sim, madame — respondeu Wheeler. — Bem, por sorte meu advogado está aqui — disse ela, olhando de relance para Cotton. Ele entrara na cozinha, vindo do quarto de Amanda. — Sra. Cardinal-disse Hugh Miller quando se sentaram—, não gosto de rodeios. Sei perfeitamente que a senhora herdou algumas responsabilidades adicionais de família e sei que não é fácil. Por isso me sinto honrado em lhe oferecer... bem, cem mil dólares pela propriedade! Tenho comigo o cheque e o documento para a senhora assinar. Louisa nunca tivera, em toda a sua vida, mais que cinco dólares em caixa, por isso "Nossa Senhora!" foi a única coisa que ela conseguiu dizer. — Vamos ver se estamos nos entendendo — disse Cotton. — Louisa estaria vendendo apenas os direitos de prospecção mineral. Miller sorriu e balançou a cabeça. — Acho que, por esta soma de dinheiro, vamos querer ficar também com a terra. — Isso não vou fazer — disse Louisa. — Por que ela não pode negociar apenas os direitos sobre os minérios? É prática comum por aqui! — Temos grandes planos para esta propriedade! Vamos fazer uma terraplenagem na montanha, montar um bom sistema de acessos e construir instalações de extração, produção e transporte. E o mais longo gasoduto jamais visto fora do Texas! Já demos uma boa olhada. A propriedade é perfeita. Não encontramos um único ponto negativo. — Só que não vou vender coisa nenhuma. — Louisa o olhou de cara feia. — Não vão devastar esta terra como fizeram nos outros lugares. — Esta região está morrendo, Sra. Cardinal! — Miller se inclinou para a frente. — A madeira acabou. As minas estão fechando. As pessoas perderam seus empregos. De que servem as montanhas se não pudermos usá-las para ajudar as pessoas? São apenas rochas e árvores. — Tenho um documento dizendo que esta terra é minha, mas sei que ninguém é dono das montanhas. vou apenas cuidar delas enquanto estiver por aqui. Elas me dão tudo de que preciso. — Tudo de que precisa? — Miller olhou em volta. — A senhora não tem luz elétrica nem telefone. Sei que é temente a Deus e certamente percebe que nosso Criador nos deu cérebros para que possamos tirar vantagem do ambiente que nos cerca. O que é uma montanha comparada a pessoas vivendo bem? O que a senhora está fazendo é ir contra as Escrituras, é essa minha opinião! Louisa olhou para o sujeito e teve vontade de rir. — Deus fez essas montanhas para durarem eternamente. E a nós, seres humanos, Ele só nos
põe aqui por um tempinho de nada. Não acha isso interessante? — Olhe aqui, minha empresa está pretendendo fazer um substancial investimento para garantir a prosperidade deste lugar! — Miller já parecia exasperado. — Como vai se colocar no caminho de tudo isso? — Exatamente como sempre fiz. — Louisa ficou de pé. com meus dois pés. Cotton seguiu Miller e Wheeler até o carro. — Dr. Longfellow — disse Miller —, por que não convence sua cliente a aceitar nossa proposta? Cotton balançou a cabeça. — Depois que Louisa Mae Cardinal toma uma decisão, é mais fácil impedir o sol de aparecer que fazê-la mudar de ideia. — bom, o sol também desaparece toda noite — disse Miller. E Cotton ficou vendo o carro dos homens da Southern Valley se afastar. A igrejinha ficava num prado, a algumas milhas do sítio Cardinal. Era uma construção de toras cortadas a machado com um pequeno campanário, uma modesta janela de vidro e uma boa dose de charme. Tinham organizado uma ceia-piquenique e Cotton comparecia com Lou, Oz e Eugene. Chamavam a coisa de ceia-piquenique porque não havia mesas nem cadeiras; só cobertores, lençóis ou toalhas de plástico estendidas na grama. Era de fato um grande piquenique disfarçado de cerimônia religiosa. Lou tinha se oferecido para ficar em casa com a mãe para que Louisa pudesse ir, mas a bisavó não gostou da ideia. — Leio minha Bíblia, rezo ao Senhor e não preciso me sentar no chão cantando com as pessoas para provar minha fé. — Por que então eu deveria ir? — perguntara Lou. — Porque depois da igreja tem a ceia — respondeu Louisa com um sorriso —, e dizem que a comida é muito gostosa, menina! Oz tinha vestido o paletó e Lou usava o vestido do saco Chop, além de grossas meias compridas marrons, presas por ligas de borracha. Eugene exibia o chapéu que ganhara de Lou e uma camisa limpa. Havia outros negros lá, incluindo uma mocinha pequena com olhos incríveis e pele extremamente suave, a moça com quem Eugene passou muito tempo conversando. Cotton explicou que havia tão poucos negros ali que eles nem tinham uma igreja separada. — O que acho muito bom — disse. — Geralmente não é o que ocorre no Sul, onde há muito preconceito, especialmente nas cidades. — Em Dickens, numa lanchonete, vimos a placa de atendimento só a brancos — disse Lou. — Aposto que sim — disse Cotton —, mas na serra é diferente. Não estou dizendo que todos que moram aqui sejam santos, pois certamente não são, mas a vida é difícil na roça e as pessoas tentam levá-la do modo mais suave possível. Não lhes sobra muito tempo para embirrar com coisas que, por certo, jamais deviam sequer passar pela cabeça de alguém. — Ele apontou para a primeira fila no interior da igreja. — George Davis e alguns outros são exceção, é claro. Lou ficou em choque ao ver George Davis sentado no banco da frente. Tinha uma muda de roupas limpas, cabelo penteado e barba feita. Mesmo não querendo, ela teve de admitir que o homem parecia respeitável. Não havia, porém, ninguém da família a seu lado. George rezava de cabeça baixa e, antes do serviço começar, Lou perguntou a Cotton o que ele achava daquele espetáculo. — Quase sempre George Davis vem para o serviço — disse Cotton —, mas nunca fica para a ceia. E nunca traz a família; seu jeito é assim. Acho compreensível que venha rezar, pois deve sentir que tem muito do que se desculpar. Claro, só faz isso para melhorar suas chances do lado de lá. Um homem calculista, sem dúvida.
Lou olhou para Davis. O homem continuava rezando como se tivesse Deus no coração e em seu lar. Enquanto isso, a família estaria assustada em casa, usando trapos e, se não fosse a bondade de Louisa Cardinal, passando fome. A menina só pôde balançar a cabeça. — Não importa o que aconteça — disse a Cotton —, jamais sente perto daquele homem. — Por que não? — Cotton olhou-a, confuso. — Ele pode ser atingido por um raio. Por muito e muito tempo, os dois prestaram atenção no pastor. As duras tábuas de carvalho machucavam as nádegas e os narizes coçavam por causa do desinfetante, da água parada das flores e dos diferentes cheiros de quem não se preocupara em tomar banho antes de ir para lá. Oz cochilou duas vezes e Lou teve de cutucá-lo para ele acordar. Cotton fez uma prece especial por Amanda, que Lou e Oz muito apreciaram. Segundo o gordo ministro batista, no entanto, todos eles já podiam estar condenados ao inferno. Jesus dera sua vida pelos homens, dizia o sujeito, mas os homens (incluindo ele próprio) pareciam desprezíveis, pois não faziam muita coisa além de pecar e relaxar nos costumes. E assim, agitando a culpa que habitava naquelas almas terrivelmente pecadoras, o pastor foi insistindo até levar cada ser humano ali presente às lágrimas ou, pelo menos, a tremer ante um extremo sentimento de inutilidade. Por fim mandou passar o prato das oferendas, pedindo num tom muito gentil a fria contribuição de toda a boa gente que, apesar de seus tremendos pecados e extrema inutilidade, ali comparecera. Após o serviço, saíram todos. — Meu pai foi pastor em Massachusetts — disse Cotton, enquanto desciam a escada da igreja. — Ele também era favorável ao método fogo e enxofre na religião. Um de seus heróis era Cotton Mather, que foi de onde saiu meu curioso nome. E papai ficou extremamente transtornado quando não segui sua carreira no púlpito, mas a vida é assim. Seja como for, não recebi grandes dons do Senhor e não quis entrar para o ministério divino só para agradá-lo. Não sou perito no assunto, mas entendo as pessoas. Elas realmente se cansam de ser arrastadas pelo caminho santo vendo seus bolsos regularmente pilhados por mãos piedosas. — Cotton sorriu ao contemplar as pessoas se reunindo em volta da comida. — Bem, talvez seja um preço justo para provar esses petiscos. A comida de fato era a melhor que Lou e Oz já tinham saboreado: frango assado, presunto da Virginia com molho doce, trouxinhas de repolho com bacon, lentilhas cobertas de manteiga caseira, pãezinhos crocantes, legumes cozidos, muitos tipos de feijão e tortas, ainda quentes, de frutas — tudo sem dúvida criado com as mais sagradas e mais preservadas receitas de comida caseira. As crianças comeram até não mais poder e depois se deitaram embaixo de uma árvore para descansar. Sentado na escada da igreja, Cotton se ocupava de uma coxinha de galinha e uma caneca de sidra quente, desfrutando a paz de uma boa ceia. Foi nesse momento que os homens se aproximaram. Eram todos lavradores, com braços fortes e ombros maciços. Pareciam meio inclinados para a frente e tinham os dedos curvados, como se ainda estivessem trabalhando com a foice ou com a enxada, ou carregando baldes de água e puxando tetas de animais pelos mamilos. — Boa-noite, Buford — disse Cotton inclinando a cabeça para um dos homens, justamente o que dera um passo à frente com o chapéu de feltro na mão. Cotton sabia que Buford Rose estava sempre trabalhando nas roças e era um homem bom e decente. Tinha um sítio pequeno, mas tratado com eficiência. Ele não era tão velho quanto Louisa, mas já passara há muito tempo da meia-idade. com o olhar fixo nas velhas botas, não parecia disposto a falar. Cotton olhou para os outros homens. Já resolvera problemas para muitos deles, geralmente coisas relacionadas com as escrituras de seus bens, impostos territoriais ou testamentos. — Estão pensando em alguma coisa? — murmurou ele. — O pessoal do carvão tem vindo nos visitar, Cotton disse Buford. — Querem conversar
sobre a terra. Ou seja, querem comprá-la. — Façam com que ofereçam um bom dinheiro — disse Cotton. — Bem, ainda não chegaram a esse ponto. — Buford olhou nervoso para os companheiros, os dedos esfregando a aba do chapéu. — Veja, o problema é que não vão comprar nossa terra a não ser que Louisa venda o sítio dela. Dizem que é por causa da localização dos depósitos de gás, coisas assim. Não entendi nada, mas foi o que eles disseram. — Este ano as colheitas foram boas — disse Cotton. — A terra foi generosa para todos. Talvez não precisem vender. — E no ano que vem? — disse um homem mais novo que Cotton, mas que parecia pelo menos dez anos mais velho. Cotton sabia que era da terceira geração de lavradores daqueles montes e não parecia muito contente com o rumo da conversa. — Um ano bom não basta para reparar o estrago de três ruins. — Por que Louisa não quer vender, Cotton? — perguntou Buford. — Ela é mais velha que eu! Veja, eu já estou esgotado e meu filho não quer mais saber disto! E Louisa tem aquelas crianças e a mulher doente para cuidar. Acho que não faz sentido ela não querer vender. — O sítio é dela, Buford. Assim como o seu é seu. A coisa não tem de fazer sentido para nós. É a vontade de Louisa. Temos de respeitar. — Mas você não pode falar com ela? — Ela já decidiu. Sinto muito. Os homens o fitaram em silêncio. Obviamente ninguém tinha gostado de sua resposta. E então, de repente, simplesmente viraram as costas e foram embora, deixando Cotton Longfellow confuso e sozinho. Oz tinha levado a bola e as luvas para o piquenique da igreja. Jogou um pouco com Lou e depois com outros garotos. As pessoas abriam a boca ante as proezas de Oz, dizendo que ele tinha um braço como nunca se vira. Foi aí que Lou esbarrou num grupo de crianças que falavam da morte de Diamante Skinner. — Estúpido como uma mula para se deixar explodir daquele jeito — dizia um menino de rosto gorducho que Lou não conhecia. — Entrar numa mina com um pavio de dinamite aceso! disse outro. — Meu Deus, que burro! — É claro que nunca foi à escola — dizia uma menina com um cabelo preto enrolado em grandes cachos. Ela usava um caro chapéu de aba larga, com uma fita em volta, e um vestido pregueado que parecia, também, ter custado muito dinheiro. Lou a conhecia como Charlotte Ramsey, cuja família não trabalhava na terra, mas era dona de uma das menores minas de carvão e vivia bem. — Acho que o coitado provavelmente não tinha noção de nada. Após ouvir isto, Lou abriu caminho para o meio do grupo. Crescera bastante desde o dia em que chegara à serra e podia olhar a todos de cima, mesmo que fossem crianças de sua faixa de idade. — Ele entrou na mina para salvar o cachorro — disse Lou. — Arriscar a vida para salvar um cão — disse rindo o menino de rosto gordo. — O cara era mesmo otário. O punho de Lou avançou e logo o garoto estava caído no chão segurando um dos lados do rosto gorducho, um lado que, sem dúvida, começara a inchar ainda mais um pouco naquele momento. Lou deu uma furtiva meia-volta e continuou andando. Oz, vendo o que tinha acontecido, pegou a bola, as luvas e logo estava emparelhando com a irmã. Não disse nada, mas foi caminhando a seu lado, à espera de que a raiva de Lou se escoasse. Certamente aquele tipo de reação não era novidade para ele. O vento estava aumentando e as nuvens
se adensavam. Parecia uma frente de temporal abrindo caminho pela crista dos montes. — Vamos pra casa andando, Lou? — Se quiser pode voltar e ir com Cotton e Eugene. — Você sabe como é Lou, você é esperta e não deve continuar batendo nas pessoas. Pode acertá-las com palavras. Ela o olhou de relance e não pôde deixar de sorrir ante o comentário. — Desde quando amadureceu assim? — Desde que fiz oito anos — disse Oz depois de pensar um pouco no assunto. Continuaram andando. Oz tinha amarrado as luvas no pescoço com um cordão e, descontraído, ia atirando a bola e rebatendo-a atrás das costas. De repente atirou-a mais uma vez, mas não a pegou. A bola rolou no chão, esquecida. George Davis tinha saído da mata silencioso como uma névoa. Para Lou, as belas roupas e o rosto lavado em nada suavizavam a maléfica expressão do sujeito. Oz ficou instantaneamente acovardado, mas Lou foi enérgica: — O que você quer? — Fiquei sabendo da história do gás. Louisa vai vender? — Isto só interessa a ela. — Interessa a mim! Aposto que também tenho gás na minha terra. — E por que não a vende? — A estrada que vai para a minha fazenda passa na propriedade de Louisa. Não vão comprar minha terra se Louisa não vender a dela. — Bem, o problema é seu! — disse Lou escondendo o sorriso. Talvez Deus tivesse finalmente começado a prestar atenção naquele homem. — Diga a Louisa que se ela quiser viver em paz é melhor vender. Diga isso a ela! É melhor ela vender! — E é melhor ficar longe de nós. — Feche essa boca estúpida! — disse Davis erguendo a mão. Rápida como cobra, a mão de alguém agarrou o braço de Davis em pleno ar. Cotton ficou parado, segurando o braço poderoso e encarando o sujeito. Davis deu um solavanco para libertar o braço e cerrou os punhos. — Acho que vai se machucar, doutor. O soco de Davis avançou, mas Cotton deteve o punho, imobilizou-o. E desta vez Davis não conseguiu se livrar do aperto, embora tentasse com toda a sua força. Quando Cotton falou, foi num tom baixo, que provocou um delicioso arrepio nas costas de Lou. — Estudei literatura americana na faculdade. Mas também fui capitão da equipe de boxe. Se tornar a erguer a mão para estas crianças, tenha certeza que vou deixar sua vida por um fio! Cotton soltou o punho e Davis recuou, obviamente intimidado pelo modo calmo e as mãos fortes do oponente. — Cotton, George quer que Louisa venda a propriedade para que ele também possa vender a dele — disse Lou. — Era nisso que estava insistindo. — Louisa não quer vender — disse firmemente Cotton. O que coloca um ponto final na história. — Muita coisa pode acontecer para mudar a cabeça de uma pessoa. — Se é uma ameaça, o xerife vai gostar de saber. A não ser que prefira acertar agora mesmo as contas comigo. com um resmungo, George Davis saiu de mansinho. — Obrigado, Cotton — disse Lou enquanto Oz pegava a bola de beisebol.
CAPÍTULO TRINTA E TRÊS Na varanda, Lou testava sua mão no conserto de meias, mas não estava gostando muito. O que ela gostava mesmo era de trabalhar do lado de fora, sentindo o sol e o vento na pele. O trabalho no campo tinha um caráter metódico que muito a agradava. Como dizia Louisa, ela estava rapidamente começando a entender e respeitar a terra. Agora, a cada dia que passava, o tempo ia ficando mais frio e a menina já usava o pesado suéter de lã que Louisa tricotara. Quando ergueu a cabeça, viu o carro de Cotton vindo pela estrada e acenou. Cotton a viu, acenou também e estacionou. Logi^saltava do carro para se juntar a ela na varanda. Os dois ficaram algum tempo apreciando os campos. — Sem dúvida é muito bonito nesta época do ano — comentou ele. — Não há lugar assim, verdade! — Então por que acha que meu pai nunca voltou? Cotton tirou o chapéu e esfregou a cabeça. — Bem, já ouvi falar de escritores que passaram a vida inteira escrevendo sobre o lugar onde nasceram sem jamais voltar para lá. Não sei, Lou, talvez tivessem medo de voltar e ver as coisas sob uma nova luz, uma luz que o despojasse do poder de contar histórias. — Maculando as recordações, é isso? — Talvez. O que lhe parece? Nunca volte às raízes se quiser continuar sendo um grande escritor... Lou não precisou pensar muito tempo. — Acho que seria um preço alto demais a pagar pela grandeza. Toda noite, antes de ir para a cama, Lou tentava ler pelo menos mais uma das cartas que a mãe escrevera para Louisa. Certa noite, uma semana depois, ao puxar a gaveta da escrivaninha onde guardava as cartas, a gaveta saiu do encaixe e emperrou. Quando ela pôs a mão por dentro da gaveta para fazer pressão e soltá-la, os dedos roçaram em alguma coisa enfiada no lado de baixo do tampo da escrivaninha. Continuando a apalpar, ela se ajoelhou e espiou. Alguns segundos depois, conseguiu puxar um envelope que estava preso lá. Sentou-se na cama e contemplou o achado. Nada havia escrito por fora, mas Lou pôde sentir as folhas de papel lá dentro. Puxou-as devagar. Estavam velhas e amareladas, assim como o envelope. Sentando-se na cama, ela passou os olhos pela cuidadosa caligrafia das páginas, as lágrimas correndo sem parar pelo rosto. O pai escrevera aquilo aos quinze anos, pois a data estava no alto da primeira folha. Lou correu para Louisa, sentou-se a seu lado na frente do fogo, mostrou o que havia encontrado e procurou ler no tom mais claro possível: Meu nome é John Jacob Cardinal, embora todos me chamem de Jack. Já faz cinco anos que meu pai morreu e minha mãe, bem, espero que esteja bem, seja lá onde for. Crescer numa serra deixa marca em todos que compartilham tanto da sua generosidade quanto da sua aspereza. É sabido que a vida aqui engendra histórias que divertem, mas que também extraem lágrimas. Nas páginas que se seguem conto o que meu próprio pai me contou pouco antes de morrer. Desde então, tenho pensado todo dia em suas palavras, embora só agora tenha encontrado a coragem necessária para registrá-las. Lembro-me claramente da história, ainda que algumas palavras possam ser minhas, não de meu pai. Sinto, no entanto, que saberei permanecer fiel ao espírito da narrativa. O único conselho que posso dar a quem quer que esbarre nestas folhas é que leia tudo com cuidado, refletindo sobre as coisas que são ditas aqui. Amo as montanhas quase como amava meu pai, mas sei que um dia vou embora e talvez nunca volte. Ainda assim, tenham certeza, acredito que poderia viver muito feliz aqui pelo resto de minha
vida.
Lou virou a página e começou a ler para Louisa a história do pai. Fora um dia longo, cansativo, embora para um lavrador como ele todos os dias fossem assim. com as colheitas de mal a pior, o coração vazio, as crianças famintas e a esposa nada satisfeita, o homem saiu para caminhar. Não tinha ido muito longe quando deparou com um sujeito de batina. O padre estava sentado no alto de uma grande pedra, de onde se via um charco de água estagnada. "Já vi que você é um homem da terra", disse o padre num tom gentil e aparentemente sábio. O lavrador respondeu que de fato seu meio de vida era a terra, embora não desejasse tal vida para os filhos, nem mesmo para seu pior inimigo. O padre, então, convidou o lavrador a lhe fazer companhia no alto da pedra. Quando o lavrador obedeceu, sentando-se a seu lado, o padre perguntou por que ele não queria que os filhos seguissem o caminho do pai. Aí o lavrador olhou para o céu com ar grave, mas apenas fingindo pensar, pois mente já sabia muito bem o que a boca ia dizer. E a vida mais miserável que alguém pode levar", disse ele. "Mas é tão bonito aqui", respondeu o padre. "Pense na desgraça das cidades, que vivem na imundície. Como pode um homem vivendo no ar puro e sobre a terra generosa dizer uma coisa dessas?" O lavrador respondeu que não era um homem instruído como o padre, mas já tinha ouvido falar da grande pobreza que havia nas cidades. Sabia que as pessoas ficavam o dia inteiro fechadas em seus casebres, pois não tinham trabalho. Ou que tentavam se arranjar pedindo esmola. De qualquer modo, iam morrendo de fome — aos poucos, mas morriam. Isso não era verdade?, ele perguntou. E o padre abanou a cabeça grande e sábia. "Bem, morrem de fome sem grande esforço", disse o lavrador. "É isto que se pode realmente considerar uma existência miserável", respondeu o homem santo. O lavrador concordou com ele, mas depois acrescentou: "Só que também ouvi que em outras partes do país há fazendas muito planas, de terras tão vastas que o vôo dos pássaros não pode cobrilas num dia só". "Isto também é verdade", respondeu o padre e o lavrador continuou: "E dizem que, nessas fazendas, pode-se comer regiamente, por anos afio, de uma única colheita. E ainda se pode vender o resto e ter dinheiro no bolso". "Tudo verdade", disse o padre. "Bem, na montanha não há lugares assim", disse o lavrador. "As colheitas dão no máximo para se comer, nada mais." "E onde você quer chegar? perguntou o padre. "Bem, meu apuro é o seguinte, padre... Meus filhos, minha mulher, eu mesmo, todos nós, ano após ano, rebentamos nossas costas trabalhando desde antes do sol nascer até quando já está escuro. Trabalhamos duro paparicando a terra para que ela nos alimente. De repente, tudo parece bom e nutrimos grandes esperanças. Então, de uma hora para outra, as coisas não dão em nada. Acabamos com fome. Assim, o senhor vê, vamos morrendo de fome apesar de tão grande esforço. Não será isto mais miserável que tudo?" "Estamos vivendo um ano realmente mau", disse o padre. "Mas tenha certeza que o milho vai crescer quando chover e quando as pessoas rezarem." "Rezamos todo dia", disse o lavrador, "e o milho continua na altura do meu joelho... E já é setembro". "Bem", disse o padre, "é claro que quanto mais chuva melhor. Mas, acredite, você é extremamente abençoado por ser um servo da terra." O lavrador disse que seu casamento não resistiria por muito mais tempo a tanta bênção, pois sua boa esposa via as coisas de um modo um pouco diferente. E curvando a cabeça, ele acrescentou: "Tenho certeza que sou um miserável digno de pena." "Fale à vontade, meu filho", disse o homem santo, "pois sou os ouvidos de Deus." "Bem", disse o lavrador, "toda essa coisa de trabalhar duro sem recompensa cria um problema no casamento, um mal-estar entre marido e mulher." O padre ergueu um dedo piedoso e disse: "Mas a recompensa pode estar no simples fato
de trabalhar duro." O lavrador sorriu: "Então, graças a Deus, tenho sido grandemente recompensado na vida". E o padre, abanando a cabeça: "Seu casamento está tendo problemas?" "Não passo de um desgraçado", disse o lavrador. "Sou os olhos do Senhor", respondeu o padre e ambos olharam para um céu azul que não tinha uma gota do que o lavrador precisava ver caindo. "Algumas pessoas não estão preparadas para uma vida de tão incríveis recompensas", disse o lavrador. "É de sua esposa que está falando agora", declarou o padre. "Talvez seja de mim", respondeu o lavrador. "Deus o conduzirá pelo caminho da verdade, meu filho", disse o padre. "Será que um homem pode ter medo da verdade?", o lavrador quis saber. "Um homem pode ter medo de tudo", disse-lhe o padre. Ficaram um pouco em silêncio, pois as palavras tinham fugido da cabeça do lavrador. Foi então que ele viu as nuvens chegarem, os céus se abrirem e a água jorrar de encontro aos dois. O lavrador se levantou, pois havia trabalho a ser feito. "Está vendo?", disse o homem santo, "minhas palavras se mostraram verdadeiras. Deus mostrou a você o caminho." "Talvez", disse o lavrador, "pois já está muito no final da estação". Quando ele se virou para retornar a seu sítio, o padre gritou: "Filho da terra, se a colheita for boa, que a tua generosidade se lembre da tua igreja!" O lavrador olhou para trás e encostou a mão na aba do chapéu. "É o Senhor que opera, e seus desígnios são insondáveis", disse ele. Depois virou as costas, deixando para trás olhos e ouvidos de Deus. Lou dobrou a carta e olhou para Louisa, esperando ter feito a coisa certa ao ler aquelas palavras. Teria o jovem Jack Cardinal reparado que a história se tornara bastante pessoal ao levantar a questão de um casamento arruinado? Louisa encarava o fogo. Ficou silenciosa por alguns minutos e depois disse: — A vida é dura por aqui, especialmente para uma criança. E é dura para um marido e sua esposa, embora eu nunca tenha enfrentado esse problema. Se minha mãe e meu papai algum dia trocaram uma palavra de insulto, eu não a ouvi. E me dei bem com meu homem, Joshua, até o instante em que ele respirou pela última vez. Mas sei que as coisas não aconteceram assim com seu papai enquanto ele viveu aqui. O pai dele, Jake, l e a mulher... Sim, eles tinham suas brigas. Lou respirou depressa. — Papai queria que você fosse morar conosco. Você não teria ido? — Está me perguntando se eu deixaria este lugar? — Virou-se para a menina. — Amo esta terra, Lou, porque ela nunca me desapontou. Se as colheitas não vêm, comemos as maçãs ou os morangos silvestres, que sempre brotam, ou as raízes que vamos achar logo abaixo da terra. É só saber procurar. Mesmo que a neve alcance três metros de altura, posso continuar vivendo. Não importa a chuva nem o granizo. Posso me arranjar com tudo isso e, mesmo num calor de derreter parede de piche, acabo encontrando água onde supostamente não havia nenhuma. E vamos em frente. Eu e a terra. Eu e esta montanha. O que provavelmente nada significa para pessoas que podem ter luz ao tocar num pequeno botão e não gostam de conversar com gente que não podem enxergar à noite. — Ela fez uma pausa e respirou fundo. — Mas para mim a montanha é tudo. — Olhou mais uma vez para o fogo. — Ainda que tudo que seu papai tenha dito seja verdadeiro. As cristas dos montes podem ser bonitas. As cristas dos montes podem ser cruéis. Ela encarou Lou e acrescentou em voz baixa: — A montanha é o meu lar. Sentada com Louisa na frente do fogo, Lou inclinou a cabeça contra seu peito e a avó alisou com extrema suavidade o cabelo da bisneta. Nesse momento, então, Lou disse uma coisa que achou que jamais ia dizer. — E agora é o meu lar também.
CAPÍTULO TRINTA E QUATRO Flocos de neve caíam de nuvens inchadas. De perto do celeiro veio um sopro forte e depois uma áspera centelha de luz, que continuou crescendo. Dentro de casa, Lou gemia entre os safanões de um pesadelo. Sua cama e a de Oz tinham sido levadas para a sala da frente, junto ao fogo, e os dois estavam soterrados sobre as cobertas que Louisa costurara através dos anos. Em seu sono torturado, Lou ouviu um ruído, mas não pôde dizer o que era. De repente, no entanto, abriu os olhos e sentou. Houve um arranhar na porta. Num instante, Lou estava alerta. Ela abriu a porta e Jeb irrompeu na casa, latindo e pulando. — Jeb, o que foi? O que houve? Então ela ouviu os gritos dos animais do sítio. Saiu correndo de pijama. Jeb a seguiu, esbaforido, e Lou descobriu por que ele parecia tão assustado: o celeiro estava tomado pelas chamas. Ela voltou correndo à casa, gritou para avisar as pessoas do que estava acontecendo e tornou a sair, agora em disparada na direção do celeiro. Eugene apareceu na porta da frente, viu o fogo e também saiu correndo. Oz vinha atrás. Quando Lou escancarou a grande porta do celeiro, uma muralha de chamas e fumaça saltou na sua frente. — Sue! Bran! — gritava ela enquanto a fumaça lhe enchia os pulmões; também pôde sentir os pelinhos nos braços se erguerem por causa do calor. Eugene, com seu andar trôpego, passou rapidamente por ela, mergulhou no celeiro e logo reapareceu, tossindo muito. Lou olhou para o recipiente com água defronte ao curral e viu um cobertor pendendo da cerca. Ela agarrou o cobertor e mergulhou-o na água fria. — Eugene, ponha isto em cima de você! Eugene se cobriu com o cobertor molhado e tornou a se arremessar para os fundos do celeiro. Uma viga caiu e quase o acertou. O fogo e a fumaça estavam por toda parte. Eugene estava muito familiarizado com o interior do celeiro e com tudo mais que havia no sítio, mas foi como se tivesse ficado repentinamente cego. Ainda assim, conseguiu se aproximar de Sue, que se debatia na baia. Ele escancarou a portinhola e jogou uma corda em volta do pescoço da égua apavorada. Saiu tropeçando do celeiro com o animal e atirou a corda para Lou. com a ajuda de Louisa e Oz, a égua seria levada para bem longe. Logo Eugene voltava ao celeiro enquanto Lou e Oz iam buscar baldes de água na casa de refrigeração. Lou, no entanto, sabia que fazer aquilo era como tentar derreter a neve soprando em cima. Eugene conseguiu retirar as mulas e todas as vacas, com exceção de uma. Mas perderam todos os porcos, toda a forragem e a maior parte das ferramentas e arreios. As ovelhas estavam invernando do lado de fora, mas ainda assim a perda seria devastadora. Louisa e Lou ficaram contemplando da varanda enquanto o celeiro, agora reduzido a estacas de madeira, continuava a queimar. Eugene se manteve junto ao curral, para onde levara a criação. Oz estava perto dele com um balde d'água, pronto para abafar qualquer início de fogo. — Está vindo abaixo — gritou Eugene, puxando Oz para trás. O celeiro desabou com as labaredas se elevando para o céu e a neve caindo suavemente sobre aquele inferno. Louisa contemplava nitidamente agoniada toda aquela ruína. Era como se ela própria estivesse envolvida pelas chamas. Apertando com força sua mão, Lou percebeu de imediato quando os dedos de Louisa começaram a tremer. E a partir daí o aperto foi se tornando cada vez mais frouxo. — Louisa? A mulher caiu no chão da varanda sem dar uma palavra. — Louisa! Os gritos angustiados da menina ecoaram pelo vale desolado e frio. Cotton, Lou e Oz estavam parados ao lado da cama de hospital onde Louisa repousava. Fora
uma selvagem corrida montanha abaixo no velho Hudson, a caixa de mudanças arranhando sob as pancadas de um assustado Eugene, a máquina zumbindo, os pneus abrindo sulcos e deslizando na neve do chão. Duas vezes o carro quase caiu pela beira da estrada. Lou e Oz tinham se agarrado a Louisa, rezando para que ela não os deixasse. Levaram-na para o pequeno hospital de Dickens, de onde Lou saíra correndo para tirar Cotton da cama enquanto Eugene voltava ao sítio para cuidar de Amanda e dos animais. Travis Barnes a estava atendendo e parecia preocupado. O hospital era também a casa dele, mas a visão de uma mesa de almoço e de um refrigerador General Electric não tinham melhorado o clima para Lou. — Como ela está? — perguntou Cotton. Barnes olhou para as crianças e puxou-o de lado. — Teve um ataque cardíaco — explicou em voz baixa. Pode ficar com o lado esquerdo meio paralisado. — Mas vai se recuperar? — Era Lou, que tinha ouvido a conversa. Travis abanou tristemente os ombros. — Não há muita coisa que possamos fazer. As próximas quarenta e oito horas serão decisivas. Se tivesse certeza que resistiria à viagem, eu a mandaria para o hospital de Roanoke. Não estamos lá muito bem equipados para este tipo de coisa. Mas podem ir para casa. Procurarei informá-los se houver alguma mudança. — Não vou sair daqui — disse Lou, e Oz disse o mesmo. — Devem estar esgotados — disse Cotton em voz baixa. — Há um sofá bem na frente do quarto — ofereceu Travis num tom gentil. Estavam todos adormecidos, uns apoiados nos outros, quando a enfermeira encostou no ombro de Cotton. — Louisa acordou — disse ela em voz baixa. Cotton e as crianças empurraram a porta e entraram. Os olhos de Louisa estavam abertos, mas não de todo. Travis estava parado junto dela. — Louisa? — disse Cotton. Não houve resposta, nem o menor traço de reconhecimento. Cotton olhou para Travis. — Ainda está muito fraca — disse Travis. — Seria normal que não estivesse sequer consciente. Lou apenas a contemplava, mais assustada que nunca. Simplesmente não podia acreditar. Seu pai, sua mãe. Diamante. Agora Louisa. Paralisada. Lou já nem sabia durante quanto tempo a mãe não conseguia mover um único músculo. Seria também aquele o destino de Louisa? Uma mulher que amava a terra? Que guardava as montanhas no coração? Que tinha a melhor vida que alguém pode ter? Isso era quase suficiente para fazer Lou parar de acreditar num Deus capaz de fazer uma coisa tão terrível. Deixar alguém sem esperança. Deixar uma pessoa sem nada, absolutamente sem nada. Na casa do sítio, Cotton, Oz, Lou e Eugene acabavam sua refeição. — Não posso acreditar que ainda não tenham apanhado quem tocou fogo no celeiro — dizia Lou furiosa. — Não há provas de que alguém tenha posto fogo, Lou respondeu Cotton, enquanto se servia de leite e passava os biscoitos à frente. — Eu sei quem foi. George Davis! Provavelmente pago pela companhia de gás. — Não saia por aí dizendo isso, Lou. Seria calúnia. — Seria verdade! — revidou a menina. Cotton tirou os óculos. — Lou, confie no que... Lou pulou da mesa, a faca e o garfo caindo no chão e fazendo todos pularem.
— Por que devo confiar em tudo que você me disser, Cotton? Disse que minha mãe ia acordar. Agora foi a vez de Louisa. Ou vai mentir de novo? Ou vai dizer que Louisa também vai melhorar? Vai? Lou saiu correndo. Oz começou a ir atrás dela, mas Cotton o deteve. — Deixe-a um pouco sozinha, Oz — disse Cotton. Ele se levantou e foi para a varanda, tentando ver as estrelas. Todas pareciam ter se extinguido. Então, como um raio na frente dele, Lou apareceu montada na égua. Sobressaltado, Cotton arregalou os olhos, mas logo menina e cavalo tinham sumido. Lou saíra a galope com Sue pelas trilhas banhadas de luar, sentindo o mato e os galhos das árvores chicotearem seu corpo. Pouco depois, chegava à casa de Diamante e descia da égua. Saiu correndo aos tropeções até alcançar o umbral da porta e mergulhar no interior da construção. com as lágrimas correndo pelo rosto, Lou avançou pela sala. — Por que você foi embora, Diamante? Agora eu e Oz não temos ninguém. Ninguém! Está me ouvindo? Está me ouvindo, Diamante Skinner! Quando o som arrastado veio da varanda da frente, Lou se virou, apavorada. Então Jeb disparou pela porta aberta e se jogou nos braços dela, lambendo seu rosto, ofegante por causa da longa carreira. Ela o abraçou. Nesse momento os galhos das árvores começaram a roçar nos vidros das janelas, um gemido ansioso desceu pela chaminé e Lou apertou o cachorro de um jeito todo especial. Uma janela se escancarou e o vento rodopiou pela sala. Depois as coisas ficaram calmas e, por fim, Lou também ficou. Ela saiu, subiu no lombo de Sue e tomou o caminho de volta, sem saber muito bem por que tinha ido até lá. Jeb foi atrás, de língua de fora. Ela chegou a uma bifurcação e virou à esquerda, na direção do sítio. Jeb, então, antes que Lou ouvisse os ruídos, começou a uivar. Bem perto deles, havia rosnados e um movimento ameaçador nos arbustos. Lou deu uma batida na égua, mas antes que Sue pudesse avançar mais alguns metros, o primeiro dos cães selvagens saiu dos bosques e veio direto na direção deles. Sue empinou quando a horrenda criatura, mais lobo que cão, arreganhou os dentes, o pêlo todo arrepiado. Então um segundo e um terceiro cão saíram da mata, até que se viram cercados por meia dúzia deles. Jeb mostrava os dentes e seu pêlo também se arrepiara, mas Lou sabia que ele não ia ter a menor chance contra aquele grupo. Sue continuava empinando, relinchando e girando em pequenos círculos. De repente Lou percebeu que estava escorregando. O corpo da égua, coberto de suor após a longa corrida, parecia ter ficado estreito como uma corda de acrobata. Um dos cães da matilha deu um bote para a perna de Lou e ela deu um salto; o animal colidiu com uma das patas de Sue, ficando temporariamente tonto. Havia, no entanto, muitos deles circundando a égua, rosnando, mostrando as mandíbulas. Jeb partiu para o ataque, mas uma das feras o sacudiu e ele recuou, o sangue brotando no pêlo. Quando outro animal mordeu a perna dianteira de Sue, ela tornou a empinar. E desta vez, quando Sue tornou a pousar as patas no chão, ninguém a montava. Lou não conseguira mais se segurar e caíra de costas, a rédea voando de sua mão. Enquanto Sue desatava pela trilha na direção do sítio, Jeb continuou parado como um muro de pedra diante da dona caída, sem dúvida pronto para morrer por ela. A matilha, então, foi estreitando o círculo, sentindo a presa fácil. Apesar da dor no ombro e nas costas, Lou fez força para se levantar. Não havia sequer uma vareta ao alcance de sua mão e ela e Jeb moveram-se para trás, até não haver mais para onde recuar. Enquanto se preparava para morrer lutando, a única coisa em que Lou pôde pensar foi que agora Oz ficaria de todo sozinho. E as lágrimas brotaram em seus olhos. O grito foi como uma rede jogada sobre tudo e os semilobos se viraram na direção de onde ele viera. Mesmo o maior deles, do tamanho de um bezerro, estremeceu ao ver o que se aproximava. A pantera era grande, de pêlo lustroso e os músculos se flexionavam sob o tom de carvão. Possuía
olhos castanhos-claros e mandíbulas duas vezes maiores que as dos cães selvagens. As garras também eram coisas apavorantes, lembrando forcados presos em dedos. Quando chegou no meio da trilha, a pantera tornou a gritar. Logo avançava para a matilha de cães selvagens com a força de um trem carregado de carvão. Os cães se viraram e fugiram da luta, mas o grande gato os seguiu, gritando a cada gracioso passo que dava. Lou e Jeb correram o mais depressa que puderam. Quando estavam a uns oitocentos metros de casa, tornaram a ouvir o estalar do mato ao redor. Os pêlos do pescoço de Jeb de novo se arrepiaram e o coração de Lou quase parou de bater: sim, ela contemplava os olhos amarelados da pantera na escuridão... O animal se deslocava pelo bosque paralelamente a eles. Um animal terrível, que poderia estraçalhar menina e cachorro em questão de segundos. Mas tudo que aquela coisa parecia estar fazendo era avançar ao lado deles, em momento algum se aventurando a sair da mata. Lou só sabia que a pantera continuava lá por causa do barulho das patas nas folhas e no mato rasteiro, e por causa do clarão dos olhos. O animal parecia flutuar na escuridão, sua pele negra misturada com uma noite fechada. Lou deixou escapar um grito de agradecimento quando viu a casa. Ela e Jeb correram para a varanda e depois para a segurança do interior. A casa parecia vazia. Cotton, ela presumiu, já devia ter ido embora havia muito tempo. com uma pressão no peito, Lou olhou pela janela, mas não havia o menor vestígio da pantera. Lou desceu o corredor, sentindo ainda o tremor em cada nervo. Na porta da mãe fez uma pausa, inclinando-se contra ela. Estivera muito perto da morte naquela noite. A coisa fora terrível, até mesmo pior que o acidente de carro, pois ela estivera sozinha no momento crítico. Lou espreitou o interior do quarto e ficou surpresa ao descobrir que a janela estava aberta. Entrou, fechou a janela e se virou para a cama. Por um momento de tontura, não pôde encontrar a mãe entre as cobertas, mas é claro, ela estava lá. A respiração de Lou retomou seu ritmo, os tremores do medo cessando à medida que ela chegava mais perto da cama. De olhos fechados, Amanda respirava levemente. Os dedos, no entanto, estavam bem curvados, como se ela estivesse sentindo alguma dor. Lou estendeu o braço, tocou-a e depois retirou a mão. A pele da mãe estava úmida, viscosa. A menina saiu correndo do quarto e esbarrou em Oz, parado no corredor. — Oz — disse ela —, você não vai acreditar no que me aconteceu! — O que estava fazendo no quarto da mamãe? — Ora! Eu... — Lou deu um passo atrás. — Tudo bem que você não queira que a mamãe melhore, mas pelo menos deixe-a sozinha! Pelo menos deixe-a em paz! — Mas Oz... — Papai sempre gostou muito de você, então deixe a mamãe comigo! vou tomar conta dela como ela sempre tomou conta de nós. Sei que mamãe vai melhorar, mesmo que você não queira. — Foi você quem não pegou a garrafa de água benta que Diamante queria lhe dar. — Talvez cordões e água benta não possam ajudar a mamãe, mas tenho certeza que ela vai ficar boa. Se você não acredita nisso, deixe-a em paz! Nunca, em toda a sua vida, Oz lhe falara daquele jeito. Ela ficou parada, contemplando os braços pequenos, mas fortes, do irmão. Pendiam ao lado do corpo como manivelas de uma máquina. Seu irmãozinho estava realmente zangado com ela! Lou não podia acreditar. — Oz! — Ele deu meia-volta e começou a se afastar. Ela tornou a gritar: — Oz, por favor não fique zangado comigo. Por favor! — O menino nem se virou. Foi para o quarto dele e fechou a porta. Lou avançou num passo incerto para os fundos da casa; depois saiu e se sentou na escada da varanda. A beleza da noite, a fantástica visão das montanhas, os gritos de toda espécie de vida
selvagem não lhe deixavam nenhuma impressão. A menina olhou para as mãos bronzeadas pelo sol, para as palmas grossas como cascas de carvalho. As unhas estavam quebradas, sujas, o cabelo emaranhado e terrivelmente ensopado de suor; o corpo estava fatigado além de qualquer limite e o espírito parecia ceder ao desespero. Afinal, Lou perdera quase todos que amara. E agora nem mais seu adorado Oz parecia estar do seu lado. Nesse momento, ela ouviu a odiada sirene correr pelo vale. Era como se a montanha estivesse gritando na expectativa da dor que se aproximava. O som parecia despedaçar a própria alma de Lou. Em seguida veio o rumor da dinamite, acabando de vez com ela. Ao olhar na direção da colina onde ficava o pequeno cemitério da família Cardinal, Lou teve vontade de também estar ali, onde nada mais poderia feri-la. Curvou a cabeça e começou a chorar baixinho. Mas não se passara muito tempo quando ouviu a porta se abrindo atrás de si. A princípio achou que pudesse ser Eugene para ver se ela havia chegado, mas o andar era muito leve. Então os braços a envolveram, apertando com força. Lou pôde sentir o delicado sopro do irmão no pescoço. Continuou curvada, mas pôs o braço para trás e procurou enlaçá-lo. E assim, irmão e irmã ficaram ali parados, por um tempo incrível.
CAPÍTULO TRINTA E CINCO A carroça os levou até o McKenzie's Mercantil e Eugene, Lou e Oz entraram. Rollie McKenzie achava-se atrás de um rústico balcão de madeira que lhe chegava à cintura. Era um homem baixo e gordo, com uma careca brilhante e uma barba comprida, quase toda branca, que lhe descia pelo peito balofo. Embora usasse óculos de lentes muito grossas, tinha de estreitar os olhos para enxergar. O armazém estava cheio quase até o teto de utensílios agrícolas e de todo tipo de material de construção. O cheiro dos arreios de couro, do querosene e da lenha sob um bojudo balcão lateral enchia todo o ambiente. Havia mostruários de vidro com doces e, encostada na parede, uma caixa de Chero Cola. Todos os outros fregueses abriram a boca para Eugene e as crianças, como se eles fossem aparições que tivessem chegado para assombrar o local. McKenzie contraiu a vista e abanou a cabeça para Eugene, os dedos cocando a barba grossa, como um esquilo procurando uma noz. — Ei, sr. McKenzie — disse Lou. Ela já estivera várias vezes ali e achava o homem grosseiro, mas honesto. Oz tinha as luvas de beisebol amarradas no pescoço e não parava de atirar sua bola. Ele agora nunca andava sem as luvas e Lou suspeitava que o irmão até dormia com aquelas coisas. — Lamento muito o que aconteceu a Louisa — disse McKenzie. — Ela vai ficar boa — disse Lou com firmeza, e Oz olhou-a com um ar de surpresa, quase deixando cair a bola. — Em que posso servi-los? — perguntou McKenzie. — Temos de construir um novo celeiro — disse Eugene. — Vamos precisar de algumas coisas. — Alguém tocou fogo em nosso celeiro — disse Lou, e encarou as pessoas que estavam em volta. — Temos de levar alguma madeira cortada, vigas, pregos, caixilhos para as portas e por aí vai — disse Eugene. — Já fiz uma lista de tudo. — Ele tirou do bolso um pedaço de papel e pousouo no balcão. McKenzie nem olhou. — Vou precisar receber à vista — disse ele, finalmente largando a barba. — Mas estamos em dia com a conta. — Eugene olhou firme para o homem. — Não lhe devemos nada, hã? McKenzie acabou dando uma olhada no papel. — Há muita coisa nessa lista. Não posso fiar nem a metade. — Então lhe trazemos uma parte da nossa colheita. Trocamos. — Não. Quero dinheiro vivo. — Por que não podemos pagar aos poucos? — perguntou Lou. — Os tempos andam difíceis — respondeu McKenzie. Quando olhou ao redor, Lou deparou com pilhas de utensílios e mercadorias. — Pelo que estou vendo, acho que os tempos andam muito bons. — Sinto muito — disse McKenzie devolvendo a lista. — Mas precisamos de um celeiro — insistiu Eugene. — O inverno não vai demorar e não podemos deixar os animais do lado de fora. Vão morrer. — Os animais que nos sobraram — disse Lou, fitando de novo os rostos que ainda os encaravam. Um homem do mesmo tamanho de Eugene se aproximou. Vinha dos fundos da loja e Lou
sabia que era o genro de McKenzie. Sem a menor dúvida esperava um dia, quando McKenzie estreitasse os olhos pela última vez, herdar o negócio, um bom negócio. — Escute aqui, Diabo-Não — disse o homem —, já teve sua resposta, certo? Antes que Lou pudesse dizer uma palavra, Eugene se colocara diretamente na frente do homem. Você sabe que meu nome nunca foi esse! Eu me chamo Eugene Randall. E nunca mais me chame de outro jeito! Ainda que pesadão, o homem pareceu surpreso e deu um passo atrás. Lou e Oz trocaram olhares e contemplaram, orgulhosos, o amigo. Eugene cravou ostensivamente os olhos em cada um dos fregueses que estavam na loja, deixando claro que o que acabara de dizer também se aplicava a eles. — Desculpe, Eugene — disse Rollie McKenzie. — Isto não vai voltar a acontecer. Eugene abanou a cabeça para McKenzie e disse às crianças que era melhor irem embora. O grupo saiu e subiu na carroça. Lou tremia de raiva. — É aquela companhia de gás. Intimidaram todo mundo. Voltaram as pessoas contra nós! — Não faz mal — disse Eugene pegando as rédeas. — Vamos achar uma saída. — Eugene! — gritou Oz. — Espere um minuto. — Ele pulou da carroça e voltou correndo para o armazém. — Sr. McKenzie! — gritava Oz. — Sr. McKenzie! — O velho homem voltou ao balcão, piscando e coçando a barba. Oz jogou bruscamente as luvas e a bola nas tábuas empenadas do balcão. — Isto não paga o material para um celeiro? McKenzie olhou para o garoto. Sua boca tremeu um pouco e os olhos, começando a piscar, ficaram úmidos atrás da barreira de vidro. — Agora vá para casa, menino. Vá para casa. Procuraram o que havia de aproveitável nas sobras do celeiro, coletando pregos, parafusos e pedaços de madeira que tivessem escapado do fogo. Cotton, Eugene e as crianças ficaram parados diante da pequena pilha. — Não sobrou muita coisa — disse Cotton. — Bem, podemos conseguir muita madeira e tudo de graça. — Eugene olhava para as florestas em volta. — Só, é claro, que vamos suar para derrubar. Lou apontou para a cabana abandonada, sobre a qual o pai havia escrito. — Podemos tirar material dali — disse ela, olhando depois para Cotton e sorrindo. Ainda não tinham se falado desde a explosão de Lou e ela se sentia constrangida com isso. — Talvez possamos fazer um milagre. — Bem, vamos pôr mãos à obra — disse Cotton. Derrubaram a cabana, salvando o que puderam. Passaram os dias que se seguiram cortando árvores. Usavam um machado e a serra curva que estava guardada no paiol e havia escapado do fogo. Puxavam os troncos caídos com mulas e correntes. Felizmente Eugene era um carpinteiro de primeira, ainda que autodidata. As árvores eram desbastadas, os troncos aplainados e, com o auxílio de um esquadro e uma trena, postos na medida certa. Eugene fazia marcas na madeira mostrando onde os entalhes deviam ser feitos. — Os pregos que temos são poucos e vamos ter de nos arranjar. Precisamos cortar e encaixar as juntas o melhor que pudermos, procurando não deixar nenhuma falha. Depois, quando conseguirmos mais pregos, completaremos o trabalho. — Como vamos fazer com as vigas de sustentação? perguntou Cotton. — Não temos cimento para instalar. — Vamos dar um jeito. Cavamos os buracos bem fundos, bem abaixo da faixa de solo fofo,
chegando até a rocha. Aí prendemos. O encaixe fica bom e resistente. Não cai. E podemos fazer a cinta nos cantos com braçadeiras de madeira. Vocês vão ver. — Você é o chefe — disse Cotton com um sorriso encorajador. Usando pá e picareta, Cotton e Eugene cavaram um buraco. Foi difícil avançar contra o solo duro. A fria respiração dos dois enchia o ar, e as mãos, mesmo de luvas, iam ficando esfoladas. Enquanto os dois faziam isto, Oz e Lou aplainavam, abriam os entalhes e os buracos a serem firmemente encaixados nas saliências e dentes de madeira. com a ajuda de uma das mulas, Cotton e Eugene trouxeram uma das vigas centrais, mas perceberam que não haveria meio de suspendê-la para instalá-la no buraco. Fizeram o que puderam, tentando dos mais diversos ângulos, usando tudo que pudesse servir de alavanca. O forte Eugene retesava cada um de seus músculos e o pequeno Oz também. Mesmo assim não conseguiram erguê-la como era preciso. — Vamos voltar a cuidar disso mais tarde — disse finalmente Eugene, o enorme peito subindo e descendo por causa do esforço inútil. Ele e Cotton estenderam a primeira parede no chão e começaram a martelar. A certa altura, porém, faltaram os pregos. Coletaram, então, todos os pedaços de metal que puderam encontrar e Eugene fez um barulhento fogo de carvão para servir como forja. Então, usando seu martelo de ferreiro, alicates e bigorna, modelou da sucata de ferro tantos pregos quanto pôde. — Sorte que o ferro não pega fogo — disse Cotton, observando Eugene trabalhar com afinco na bigorna. Ela continuava intacta, no meio do espaço ocupado pelo antigo celeiro. O trabalho duro de Eugene produziu uma quantidade de pregos suficiente para concluir outro terço da primeira parede, mas não mais. Já estavam nisto havia muitos dias, dias frios, e tudo que tinham para mostrar era um buraco e uma viga de sustentação, uma única viga, que não conseguiam encaixar. Tinham também uma parede sem pregos suficientes para sustentá-la inteira. Então, no início de uma certa manhã, reuniram-se ao redor da viga e do buraco para analisar o trabalho e todos concordaram que a situação não parecia boa. Um inverno rigoroso estava se aproximando e nada de celeiro. Sue, as vacas e até as mulas começavam a revelar as sequelas de passarem as noites ao relento, sob o ar gelado. E eles não podiam se dar ao luxo de perder mais animais. Mas por pior que fosse tudo isso, era o menor dos problemas, pois Louisa, embora de vez em quando recuperasse a consciência, continuava sem dizer uma palavra e seus olhos pareciam mortos. Muito preocupado, Travis Barnes ainda dizia que ela devia ser mandada para Roanoke, mas tinha medo que Louisa não resistisse à viagem. No fundo, ele sabia que ninguém poderia fazer grande coisa por ela. Louisa, no entanto, conseguia beber e comer um pouco. Embora não fosse muito, Lou encarava aquilo como um ponto de apoio. Era mais ou menos o que a mãe conseguia fazer. Bem, pelo menos as duas continuavam vivas. Lou olhou em volta, observando o pequeno e deprimente grupo de construtores de celeiro. Depois contemplou as árvores desfolhadas nas encostas íngremes, desejando que o inverno se dissolvesse magicamente sob um calor antecipado de verão, e Louisa conseguisse sair bem e saudável de seu leito de doente. O barulho das rodas fez todos se virarem para a estrada. Era uma longa fila de carroças puxadas por mulas, cavalos e parelhas de bois. Vinham cheias de toras de madeira, muita brita, barricas com pregos, cordas, escadas, plainas, brocas, lixas e todo tipo de ferramenta. Lou desconfiou que as ferramentas vinham em boa parte do McKenzie's Mercantil. Ela contou trinta homens ao todo, todos da montanha, todos lavradores. Fortes, silenciosos, barbados, usando roupas grossas e chapéus de aba larga para protegê-los do sol de inverno. Todos tinham mãos
grandes, ásperas, severamente calejadas pelos elementos da montanha e por toda uma vida de trabalho duro. com eles, meia dúzia de mulheres. Depois que os suprimentos foram descarregados e enquanto as mulheres estendiam lonas ou cobertores na relva e começavam a preparar a refeição no forno de Louisa, os homens começaram a construir um celeiro. Sob a direção de Eugene, fizeram uma cinta de madeira para as paredes e as vigas. Optaram por usar as britas como apoio da fundação, em vez de tentarem cimentar as vigas nos buracos. Cavaram espaços rasos onde depositaram as pedras; depois nivelaram, colocando tábuas maciças sobre as pedras como base para a armação da estrutura. Essas tábuas, pregadas umas nas outras, cercavam toda a fundação. Tábuas adicionais corriam pelo meio da área do celeiro e se ligavam às tábuas laterais. Posteriormente, as vigas seriam instaladas e cintadas para suportar a estrutura do telhado e do palheiro. Usando uma roldana com uma corda, a equipe de mulas ergueu as pesadas vigas de quina, assentando-as nos encaixes do alicerce. Grossas braçadeiras de madeira foram pregadas de ambos os lados dessas vigas; depois as próprias braçadeiras foram firmemente unidas ao alicerce. com a fundação do celeiro terminada, a estrutura das paredes foi montada no chão. Eugene media e fazia as marcações, gritando instruções sobre os encaixes. Fios-de-prumo foram encostados nas vigas e marcados buracos. Usaram a roldana para erguer as tábuas que seriam usadas na travemestra. Buracos foram perfurados nessas tábuas e compridos parafusos de metal as uniram às vigas. Houve um grito de alegria quando a primeira parede foi levantada, um grito que se repetiria cada vez que as demais paredes fossem construídas e instaladas. Armaram o telhado; depois as marteladas se tornaram mais fortes quando as estacas que ligavam as placas foram encaixadas. Serras cortaram o ar, hálitos frios se cruzaram, serragem rodopiou na brisa, homens seguraram pregos nas bocas e mãos manejaram martelos com movimentos hábeis. Duas refeições foram servidas. Em ambas o pessoal se sentou na relva e comeu bastante. Lou e Oz transportavam pratos de comida quente e bules de um café misturado com chicória para os grupos de homens cansados. Sentado no chão, apoiando as costas numa cerca de ferro, Cotton sorvia seu café, tentando relaxar os músculos doloridos. com um sorriso largo, contemplava um celeiro começando a brotar apenas do suor e da solidariedade de bons vizinhos. — Quero agradecer a todos vocês por esta ajuda — disse Lou, pousando diante dos homens uma bandeja de pão quente com muita manteiga. Buford Rose tirou um pedaço do pão e, ainda que quase sem dentes, deu uma mordida selvagem. — Bem, temos de nos ajudar por aqui — disse pouco depois —, senão ninguém vive. Perguntem à minha mulher se não tenho razão. E só Deus sabe como Louisa gostava de ajudar as pessoas deste lugar. — Ele olhou para Cotton, que o saudou inclinando a xícara de café.'— Eu sabia do que estava falando, Cotton, quando dizia a você que tudo pode ser pago com trabalho e há gente que paga muito mais que eu. Meu irmão, por exemplo, tem um gadinho de leite lá embaixo no vale. Quase já nem pode andar de tanto ficar sentado naquele banco, os dedos curvados como raiz de urtiga. As pessoas, você sabe, dizem que há duas coisas que alguém que tira leite nunca vai ter: roupas bonitas e um lugar para dormir em paz. — Ele arrancou outra fatia do pão. — Bem, a dona Louisa ajudou no meu nascimento — disse um rapaz. — Minha mãe diz que eu não teria vindo a esse mundo se ela já não estivesse aqui. — Os outros abanaram a cabeça e riram com a observação. Um dos homens olhou para Eugene. Ele estava sentado perto da construção, mastigando um pedaço de frango e pensando nas tarefas que tinham pela frente.
— Dois anos atrás — disse o sujeito —, Eugene me ajudou a levantar um novo celeiro. O homem é realmente bom com um martelo e uma serra. Acreditem nisso. Por baixo de gomos revoltos de sobrancelhas, Buford Rose estudou a fisionomia de Lou. — Me lembro bem de seu pai, moça. Você é bem parecida com ele. Aquele menino não parava de amolar as pessoas com perguntas. Um dia tive de dizer a ele que todas as palavras que havia na minha cabeça tinham se esgotado. — Deu um sorriso quase desdentado e Lou retribuiu. O trabalho continuou. Um grupo instalou as tábuas do telhado e calafetou as fendas com gesso. Outra equipe, encabeçada por Eugene, trabalhou nas portas duplas das duas extremidades da construção e nas portinholas do paiol, enquanto um terceiro grupo acertava o alinhamento e o encaixe das paredes externas. Quando ficou escuro demais para as pessoas verem o que estavam deslocando ou cortando, lampiões de querosene iluminaram a noite. O barulho dos martelos e das serras chegava a ser quase agradável ao ouvido. Quase. Ninguém se queixou ao ver a última tábua encaixada e o último prego colocado. Já estava bem escuro quando o trabalho foi de fato concluído e as carroças partiram. Fazendo um último esforço, Eugene, Cotton e as crianças levaram os animais para sua nova casa e forraram o chão e o paiol com feno trazido dos campos. O palheiro, as baias, as manjedouras e outros detalhes ainda precisavam ser construídos, e o teto talvez precisasse ser adequadamente revestido de telhas de madeira. Os animais, contudo, estavam abrigados e aquecidos. com um grande sorriso de alívio, Eugene trancou com muito cuidado as portas do celeiro. CAPÍTULO TRINTA E SEIS Cotton estava levando as crianças para visitar Louisa. Já estavam em pleno inverno, mas a neve pesada ainda não chegara, só precipitações de alguns centímetros. Era, no entanto, apenas uma questão de tempo para que as nevascas, caindo com força, formassem espessas camadas de neve. Ultrapassaram a vila da companhia de carvão onde Diamante adornara o novo Chrysler Crown Imperial do superintendente com esterco de cavalo. O lugar agora estava deserto, as casas abandonadas, o armazém vazio, as garrafas de bebida jogadas no chão e a entrada da mina fechada com tábuas. O fantástico Chrysler do superintendente da mina, sujo de merda de cavalo, havia muito desaparecera. — O que aconteceu? — disse Lou. — Fechada — respondeu Cotton num tom sombrio. — A quarta mina em poucos meses. Os veios já estavam se esgotando, mas para piorar as coisas descobriu-se que o coque que saía daqui era fraco demais para a produção de aço. Então a máquina militar da América foi procurar em outra parte este tipo de insumo. Muita gente ficou sem trabalho nessa região. E a última empresa madeireira mudou-se há dois meses para o Kentucky. Um duplo golpe. Os lavradores da serra tiveram um bom ano, mas nas cidades as pessoas estão passando o diabo. Geralmente é assim, a coisa acerta de um lado ou do outro. Aqui a prosperidade parece chegar sempre pela metade. — Cotton balançou a cabeça. — Sabem que aquele incrível prefeito de Dickens renunciou ao cargo, vendeu seus bens a preços altos antes da crise e foi procurar nova fortuna na Pensilvânia? Muitas vezes os que mais fazem propaganda do jogo são os que correm na frente ao primeiro sinal de perigo. Enquanto desciam a serra, Lou reparou que havia menos caminhões de carvão e que muitas das vendas na encosta da montanha já não funcionavam. Ao passarem por Tremont, viu que metade das lojas estava fechada e que havia pouca gente nas ruas; Lou percebeu que não era apenas por culpa do tempo frio.
Quando chegaram a Dickens ela ficou chocada, pois também ali muita coisa fechara, incluindo o bar onde Diamante havia aberto um guarda-chuva. Sem dúvida a má sorte caíra sobre ele, e Lou não achava isso engraçado. Havia homens mal vestidos sentados nos meios-fios e nos degraus das casas, olhando para o vazio. Os carros, que costumavam estacionar obliquamente na frente das calçadas, agora eram poucos e só se viam comerciantes parados na frente das lojas vazias, as mãos na cintura, um olhar nervoso no rosto. Também não eram muitos os homens e mulheres andando pelas ruas, e também seus rostos revelavam uma ansiosa palidez. Um ônibus cheio de gente ia saindo lentamente da cidade e um trem de carvão vazio se arrastava atrás da linha dos prédios, paralelamente à estrada. A faixa que dizia "O Carvão é o Rei" não flutuava mais, solene e orgulhosa na rua, e provavelmente a Miss Carvão Betuminoso de0 também tinha fugido. Enquanto seguiam, Lou viu mais de um grupo de pessoas apontarem para eles e trocarem comentários. — Esse pessoal não parece muito contente — disse Oz num tom nervoso ao saltarem do Oldsmobile de Cotton. Do outro lado da rua, outro ajuntamento de homens tinham os olhos fixos neles. Na frente do grupo, nada mais nada menos que George Davis. — Vamos em frente, Oz — disse Cotton. — Estamos aqui para visitar Louisa, mais nada. Cotton entrou com os dois no hospital, onde foram informados por Travis Barnes que o estado de Louisa não havia se alterado. Lou segurou uma das mãos dela, Oz a outra. Os olhos estavam vidrados e muito abertos. Era evidente que Louisa não os reconhecia. Só uma respiração muito leve indicava que ainda não morrera. Foi com grande ansiedade que a menina ficou acompanhando o subir e descer daquele peito, pedindo com toda a sua alma que ele não parasse de se mover. Finalmente Cotton lhe disse que era tarde e Lou, espantada, descobriu que já estavam lá havia mais de uma hora. Quando voltaram ao Oldsmobile, o grupo de homens continuava à espera. George Davis pousara a mão na porta do carro de Cotton. Cotton avançou corajosamente para eles. — Como posso ajudá-los, pessoal? — perguntou num tom gentil, mas tirando com firmeza a mão de Davis do Olds. — Conseguindo que aquela maluca venda sua terra, é assim que pode! — gritou Davis. Cotton encarou os homens. Além de Davis, eram todos da cidade, não dos montes. Nem por isso, no entanto, estariam menos desesperados que as pessoas cuja sobrevivência dependia da terra, da força das sementes, da constância da chuva. Todas as esperanças deles haviam repousado no carvão. Mas o carvão era diferente do milho; uma vez extraído, não tornava a brotar. — Já discuti o assunto com você, George, e a resposta continua sendo a mesma. Agora, se me desculpar, tenho de levar as crianças para casa. ^ — A cidade inteira está indo pró buraco! — disse outro homem. — E acham que a culpa é de Louisa? — perguntou Cotton. — Ela está morrendo. Não precisa mais da terra — disse Davis. — Ela não está morrendo! — exclamou Oz. — Cotton — disse um homem bem-vestido de uns cinquenta anos de idade. Cotton o conhecia. Era o dono da agência de automóveis de Dickens. Tinha ombros estreitos e braços finos. A lisura das palmas das mãos mostrava claramente que nunca havia erguido um fardo de feno, manejado uma foice ou arado um campo. — vou perder meu negócio. Se o carvão não for substituído por alguma coisa, vou perder tudo que tenho. E não sou o único nessa situação. Olhe em volta, estamos passando o diabo! — O que vai acontecer quando o gás
natural se esgotar? — revidou Cotton. — Acham que vai aparecer outra coisa para salvá-los? — Não vou olhar assim tão para a frente. O que me interessa é o que temos agora e o que temos agora é o gás! — declarou Davis num tom de raiva. — Todos nós podemos ficar ricos. Por mim não há problema. Vendo minha terra, ajudo meu vizinho! — Verdade? — disse Lou. — Não vi você construindo o novo celeiro, George. Na realidade, nem apareceu no nosso sítio desde que Louisa o botou para correr. A não ser, é claro, que tenha tido alguma participação no fogo do celeiro. Davis cuspiu, enxugou a boca e apertou o cinto. Sem dúvida teria estrangulado a menina ali mesmo se Cotton não estivesse ao lado dela. — Lou — disse Cotton firmemente —, já basta. — Cotton — começou o homem bem-vestido —, não posso acreditar que esteja nos abandonando por causa de uma estúpida mulher da roça. Diabo, acha que terá alguma causa a defender se a cidade morrer? — Não se preocupem comigo. — Cotton sorriu. — Iam se admirar se soubessem como posso me arranjar com pouca coisa. E com relação à Sra. Cardinal, prestem atenção, pois é a última vez que vou dizer isto: ela não quer vender sua terra para a Southern Valley! É o direito dela e o melhor que vocês têm a fazer é respeitá-lo. Agora, se realmente não puderem sobreviver aqui sem o pessoal do gás, sugiro que vão embora. Porque entendam: a Sra. Cardinal não tem esse problema. Se amanhã desaparecesse da face da terra cada restinho de carvão e gás, e toda a eletricidade, e todos os telefones, nada disso iria alterar a vida dela. — Cotton olhou diretamente para o homem bem vestido. — E agora me diga, quem está parecendo ser o estúpido aqui? Cotton mandou as crianças entrarem no carro e, no instante exato em que os homens avançaram um pouco mais e começaram a cercá-lo, ele se instalou no banco do motorista. Alguns recuaram e foram bloquear a traseira do carro. Cotton ligou o motor do Olds, baixou a janela e pôs a cabeça de fora. — Escutem, a embreagem desta coisa é muito especial! Às vezes ela se descontrola e faz a perereca voar por quase dois quilômetros de campo. Um dia quase matou um homem que ficou atrás. Não estão acreditando? Dêem uma olhada! Ele soltou a embreagem. O Olds realmente deu um salto para trás e os homens também pularam. com o caminho livre, Cotton continuou de ré até que todos se afastassem. Quando uma pedra atingiu o banco de trás, Cotton pisou firme no acelerador e mandou Lou e Oz se abaixarem e ficarem quietos. Várias outras pedras atingiram o carro antes que eles se vissem fora de alcance. — E Louisa? — perguntou Lou. — Ela vai ficar bem. Travis geralmente está por perto. É um sujeito que sabe manejar uma espingarda e, quando ele não está de plantão, a enfermeira também é excelente atiradora. Já avisei o xerife que as pessoas estavam ficando um tanto irritadas. Tudo será acompanhado de perto. De qualquer modo, essa gente não vai fazer nada com uma mulher indefesa numa cama. Estão com raiva, mas dentro de certos limites. — Será que vão nos atirar pedras sempre que formos visitar Louisa? — perguntou Oz, apreensivo. — Bem — disse Coton pondo o braço em volta do garoto —, se fizerem isso, aposto que são eles que terão de largar as pedras e correr. Nós não vamos desistir das visitas. Quando voltaram ao sítio, Eugene correu de olhar ansioso em direção a eles. Na mão, um pedaço de papel. — Um homem da cidade passou por aqui com isto, Dr. Cotton. Não sei o que é. Mandou que eu desse rapidamente ao senhor.
Cotton abriu o papel e leu. Era uma notificação por não pagamento de imposto. Ele esquecera que Louisa não pagava o imposto territorial havia três anos. Não tinha havido colheitas e, portanto, também não houvera dinheiro. O condado agora a notificava, a ela e aos sitiantes que estavam na mesma situação. Queriam que pagassem, é claro, mas sempre concediam um certo tempo. Aquela notificação, no entanto, exigia pagamento imediato do total da dívida. Uma dívida de duzentos dólares. E como Louisa ficara muito tempo inadimplente, poderiam entrar em juízo e vender a terra muito mais depressa que em outras circunstâncias. Cotton pôde sentir a marca corrupta da Southern Valley cobrindo o papel de cima a baixo. — Algum problema, Cotton? — perguntou Lou. Cotton olhou para ela e sorriu. — Eu cuido disso, querida. É só a papelada do escritório. Cotton contou os duzentos dólares diante do oficial de justiça e ganhou um recibo selado. Voltou cansado a seu apartamento e encaixotou a última pilha de livros. Daí a alguns minutos, ao erguer os olhos, viu Lou parada na soleira da porta. — Como chegou aqui? — perguntou ele. — Dei um passeio com Buford Rose em seu velho Packard. Não havia portas na coisa. A vista era linda, mas eu quase saía voando nas curvas. E também fazia muito frio. Olhou ao redor, vendo a sala vazia. — Cadê os livros, Cotton? — Estavam ocupando muito espaço. — Ele riu e bateu na testa. — E, por falar nisso, tenho de continuar cuidando deles! Lou balançou a cabeça. — Passei pelo fórum. Imaginei que havia mais naquele papel do que você queria me dizer. Duzentos dólares por todos os seus livros. Não devia ter feito isso. — Ainda me sobraram alguns. — Cotton fechou a caixa. — E gostaria que ficasse com eles. — Por quê? — disse Lou entrando na sala. — Porque são livros de seu pai. E não conheço ninguém melhor para tomar conta deles. Em silêncio, Lou viu Cotton fechar a caixa com fita adesiva. — Vamos fazer uma visitinha a Louisa — disse Cotton. — Estou ficando assustada. Novas lojas estão fechando. E acabou de partir outro ônibus cheio de gente. Você não imagina os olhares que as pessoas me atiram na rua. Estão realmente irritadas. E Oz brigou na escola com um garoto. Ele disse que estávamos arruinando as vidas das pessoas ao não vender o sítio. — Oz está bem? — Ele venceu a briga. — Lou deu um sorriso fraco. — Acho que o próprio Oz se surpreendeu com o resultado. Ficou de olho roxo e está bem orgulhoso disso. — Tudo vai ficar bem, Lou. As coisas vão dar certo. Vamos superar esta fase. Ela deu mais um passo à frente, a fisionomia séria. — As coisas não estão dando certo desde que chegamos aqui. Talvez devêssemos vender tudo e ir embora. Talvez fosse o melhor para todos nós. Incluindo mamãe e Louisa, que teriam o cuidado médico de que precisam. — Ela fez uma pausa e acrescentou sem conseguir olhar para Cotton: — Poderíamos procurar outro lugar. ,,. — É mesmo isso que você quer? Cansada, Lou desviou o olhar. — Às vezes o que eu quero é subir no morrote atrás da casa, deitar naquele chão e não acordar nunca mais. Simples assim. Cotton pensou um pouco e começou a recitar: — No vasto campo de batalha do mundo,/ No acampamento da Vida,/ Não seja como gado estúpido, sem vontade!/ Seja um herói na refrega!/ Não
confie no Futuro, por mais agradável que lhe pareça!/ Deixe o Passado morto enterrar seus mortos!/ Aja — aja no glorioso Presente!/ O coração em nosso íntimo e Deus sobre nós!/ As vidas de grandes homens nos fazem lembrar/ Que podemos transformar nossas vidas em algo sublime,/ E, ao partir, deixar para trás... Pegadas nas areias do tempo. — "Um Salmo de Vida", Henry Wadsworth Longfellow — disse Lou sem muito entusiasmo. — O poema continua, mas sempre considerei que esses versos eram a parte essencial. — A poesia é uma coisa bonita, Cotton, mas não sei se ela pode consertar a vida real. — A poesia não precisa consertar a vida real, Lou, só precisa existir. O conserto cabe a nós. Deitar-se no chão para nunca mais acordar ou fugir dos problemas são atitudes que não combinam com a Lou Cardinal que conheço. — Muito interessante o que você disse. — Era Hugh Miller, parado no umbral da porta. — Fui procurá-lo no escritório, Longfellow. Aí soube que estava no fórum, pagando dívidas de outras pessoas. — Deixou transparecer um sorriso torto. — Uma boa ação de sua parte, ainda que equivocada. — O que você quer, Miller? — disse Cotton. — Bem — disse o homem entrando na sala e olhando para Lou —, primeiro quero dizer que lamento o que aconteceu com a Sra. Cardinal. Lou cruzou os braços e olhou para o lado. — Mais alguma coisa? — disse Cotton asperamente. — Também quero fazer outra oferta pela propriedade. — Quem pode vender a propriedade não sou eu. — Mas a Sra. Cardinal não está em condições de examinar a oferta. — Ela já se recusou a vender uma vez, Miller. — E é por isso que resolvi cortar caminho e aumentar minha oferta para quinhentos mil dólares. Cotton e Lou trocaram olhares de sobressalto antes do advogado dizer: — Repito, quem pode vender a propriedade não sou eu. — Presumi que tivesse uma procuração para agir em nome dela. — Não. E mesmo que tivesse, não ia lhe vender a propriedade. Há mais alguma coisa que eu possa ou não fazer por você? — Não, Cotton, já me disse tudo que eu precisava saber. — Miller entregou-lhe um maço de documentos. — Considere sua cliente servida. O homem saiu com um sorriso na boca e Cotton ficou examinando os documentos. Nervosa, Lou continuava parada a seu lado. — O que é, Cotton? — Não é coisa boa, Lou. Cotton agarrou bruscamente o braço de Lou, desceu a escada com ela e os dois rumaram para o hospital. Cotton escancarou a porta do quarto de Louisa e o flash estourou assim que eles entraram. O homem olhou para os dois e tirou outra foto de Louisa na cama. Havia outro homem perto dele, um sujeito alto, de ombros largos; Ambos usavam belos ternos e chapéus vincados no meio. 271 — Saiam daqui! — gritou Cotton. Ele correu e tentou pegar a câmera, mas o fortão o empurrou, dando tempo para o parceiro escapar. Em seguida, o homem se retirou sorrindo do aposento. Cotton ficou parado, respirando com dificuldade, parecendo indefeso entre Lou e Louisa. CAPÍTULO TRINTA E SETE
Era um dia particularmente frio, mas sem nuvens, quando Cotton entrou no tribunal. Ele parou quando viu Miller ao lado de outro homem, um sujeito alto, de ar distinto e muito bem vestido, o fino cabelo grisalho cuidadosamente penteado. A cabeça, no entanto, era tão grande que quase parecia anormal. — Tinha absoluta certeza — disse Cotton a Miller — que ia encontrá-lo hoje. Miller inclinou a cabeça para seu acompanhante. — Provavelmente já ouviu falar de Thurston Goode, promotor público de Richmond... — Na verdade já. Recentemente, o senhor esteve à frente de uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos, estou certo, doutor? — Para ser mais preciso — disse Goode num profundo e confiante tom de barítono —, ganhei a ação, Dr. Longfellow! — Parabéns. Se bem que agora o senhor está muito longe de casa. — A Secretaria de Justiça teve a gentileza de permitir que o Dr. Goode viesse defender os interesses da União nesta importantíssima matéria — explicou Miller. — Desde quando um simples processo para declarar uma pessoa mentalmente incapaz exige a presença de um dos melhores advogados da União? Goode sorriu calorosamente. — Como funcionário da promotoria, não tenho de lhe explicar por que estou aqui, Dr. Longfellow. Basta dizer que estou. Cotton pôs a mão no queixo e fingiu estar refletindo. — Vamos ver... A Virginia elege os funcionários da promotoria. Posso perguntar se a Southern Valley fez alguma doação para sua campanha, doutor? A cara de Goode ficou vermelha. <"> — Não gosto do que está insinuando! — Não falei como insinuação. — Todos de pé — disse Fred, o oficial de justiça. — A corte do meritíssimo Henry J. Atkins está agora em sessão. Todos os que têm pendência nesta corte devem se aproximar para serem ouvidos. O juiz Henry Atkins, um homem baixo com barba curta, cabelo ralo e grisalho e olhos castanho-claros entrou na sala vindo de um gabinete adjacente. Ele tomou assento na bancada. Antes que se levantasse, parecia pequeno demais para a toga preta. De pé, pareceu grande demais para a sala de audiências. Foi neste ponto que Lou e Oz se introduziram na sala sem serem vistos por ninguém. Usando casacos pesados e meias grossas dentro de enormes botas, tinham seguido através da ponte feita pelo galho do choupo, descido a montanha e pegado carona num caminhão que ia para Dickens. Por causa do tempo frio, a viagem fora muito mais difícil que da primeira vez, mas como Cotton explicou, o resultado daquele processo teria efeitos muito nítidos na vida dos dois. Eles se deixaram afundar num banco nos fundos da sala, as cabeças pouco visíveis sobre as costas dos bancos que ficavam na frente deles. — Chame o próximo caso — disse Atkins. Era o único caso naquele dia, mas a corte tinha seus rituais. Fred anunciou a ação movida pelo Estado contra Louisa Mae Cardinal. De seu assento na bancada, Atkins deu um sorriso largo. — Dr. Goode, me sinto honrado em ter o senhor no meu tribunal. Por favor declare a posição da promotoria/ Goode se levantou e enfiou um dedo na lapela do paletó. — Certamente isto não é uma tarefa agradável, mas algo que a promotoria tem o dever de executar. A Southern Valley Carvão e Gás fez uma oferta para adquirir a propriedade que se encontra em nome exclusivo da Sra. Cardinal. Acreditamos que, devido a seu recente ataque, ela não está legalmente capacitada a tomar uma decisão com relação a essa oferta. Seus únicos parentes vivos
são menores de idade e estão, portanto, impossibilitados de agir em nome dela. E sabemos que o parente sobrevivente das crianças sofre de uma severa incapacidade mental. Temos também o fato rigorosamente comprovado de que a Sra. Cardinal não assinou qualquer procuração concedendo poderes para que algum advogado representasse seus interesses. Neste momento, Cotton lançou um olhar agudo a Miller, que acabara de levantar a cabeça com seu jeito convencido. — Assim — continuou Goode —, de modo a proteger plenamente os direitos da Sra. Cardinal, solicitamos que ela seja declarada mentalmente incapaz e que tenha um tutor designado pelo tribunal. Deste modo seus negócios poderão ser sensatamente conduzidos, incluindo a oferta extremamente lucrativa feita pela Southern Valley. Atkins abanou a cabeça enquanto Goode se sentava. — Obrigado, Dr. Goode. Cotton? Cotton se levantou, avançou um passo e parou diante do juiz. — Meritíssimo, o que vemos aqui é uma tentativa de desprezar, não de cumprir os desejos da Sra. Cardinal. Ela já havia rejeitado uma oferta da Southern Valley de compra de sua terra. — Isto é verdade, Dr. Goode? — inquiriu o juiz. Goode parecia confiante. — A Sra. Cardinal rejeitou uma primeira oferta; a presente oferta, no entanto, envolve uma soma consideravelmente maior de dinheiro, e deve ser analisada em separado. — A Sra. Cardinal deixou bem claro que não venderia o sítio à Southern Valley, por melhor que fosse a proposta disse Cotton. Ele fez um gancho com o dedo em volta da lapela do paletó, exatamente como Goode tinha feito. Depois pensou melhor e tirou o dedo dali. — Tem alguma testemunha para corroborar sua afirmação? — perguntou o juiz Atkins. — Ha... só eu. Goode revidou de imediato. — Bem, se o Dr. .Longfellow pretende arrolar a si mesmo como testemunha material neste caso, insisto para que abdique de sua posição como advogado da Sra. Cardinal. — É o que você quer fazer? — perguntou Atkins olhando para Cotton. — Não, não é. Pretendo representar os interesses de Louisa até ela melhorar. Goode sorriu. — Meritíssimo, o Dr. Longfellow expressou claramente, perante esta corte, pontos de vista preconcebidos com relação a meu cliente. Dificilmente ele poderia ser considerado um homem suficientemente independente para representar de forma adequada os interesses da Sra. Cardinal. — Estou inclinado a concordar com ele, Cotton — disse Atkins. — Bem, então quero sustentar que a Sra. Cardinal não está mentalmente incapaz — disparou Cotton. — Agora temos uma verdadeira disputa, cavalheiros disse o juiz. — O julgamento da causa será em uma semana. — Não é tempo suficiente! — exclamou Cotton, atônito. — Uma semana está bom para nós — disse Goode. — Os assuntos da Sra. Cardinal merecem ser tratados com o devido respeito e a devida presteza. — Cotton — disse Atkins pegando o martelo —, passei no hospital para ver Louisa. Não sei até que ponto ela está consciente, mas acho que aquelas crianças vão precisar de um tutor. É uma situação que também deveríamos resolver o mais breve possível. — Podemos cuidar de nós mesmos. Olharam todos para o fundo da sala, onde Lou tinha se levantado.
— Podemos cuidar de nós mesmos — repetiu ela. — Até Louisa melhorar. — Lou — disse Cotton —, não é hora ou lugar de falar assim. Goode sorriu para os dois. — Vejo que são crianças adoráveis. Meu nome é Thurston Goode. Como vão vocês? Nem Lou nem Oz responderam. — Senhorita — disse Atkins —, venha até aqui. Lou engoliu o caroço em sua garganta e caminhou até a bancada, onde o olhar de Atkins, como o olhar de Zeus examinando um mortal, caiu atentamente sobre ela. — A senhorita é membro da Ordem dos Advogados? — Não. Eu pretendia... não. — Sabe que só membros da Ordem podem se dirigir ao juiz, exceto em circunstâncias muito especiais? — Bem, como tudo isso diz respeito a mim e a meu irmão, acho que as circunstâncias são muito especiais! Atkins olhou para Cotton e sorriu antes de voltar a Lou. — É esperta, isso é fácil ver. Despachada. Mas a lei é a lei, e crianças da sua idade não podem viver sozinhas. — Temos Eugene. — Ele não é parente de vocês. — Bem, Diamante Skinner não vivia com ninguém. Atkins olhou para Cotton. — Cotton, quer explicar a ela, por favor. — Lou, o juiz tem razão, vocês não têm idade suficiente para viver sozinhos. Precisam de um adulto. De repente os olhos de Lou se encheram de lágrimas. — Fomos perdendo todos os nossos adultos. — Ela se virou, disparou pelo centro da sala, escancarou as portas duplas e desapareceu. Oz fugiu atrás. Cotton tornou a olhar para o juiz Atkins. — Uma semana — disse o juiz. Ele bateu o martelo e, como um mago querendo descansar depois de um encantamento particularmente difícil, voltou para seu gabinete. Do lado de fora da sala de audiências, Goode e Miller esperavam por Cotton. Goode se inclinou ao vê-lo. — Veja bem, Dr. Longfellow, o senhor pode tornar as coisas muito mais fáceis para todos nós. Basta cooperar. Sabemos o que um exame mental vai revelar. Por que submeter a Sra. Cardinal à humilhação de um julgamento? Cotton chegou ainda mais perto de Goode. — O senhor, Dr. Goode, está pouco se importando se os assuntos de Louisa vão ou não receber o respeito que merecem. Está aqui como serviçal de uma grande empresa, uma empresa que espera burlar a lei para tirar sua terra. — Vamos nos encontrar na corte — disse Goode sorrindo. Naquela noite, Cotton trabalhou em pé, ao lado da escrivaninha entulhada de papéis. Resmungava, fazia anotações que logo rasgava, andava de um lado para o outro como um pai esperando o bebê nascer. De repente a porta se abriu e Cotton deparou com Lou. Ela trazia uma cesta de comida e um bule de café. — Eugene me trouxe de carro para ver Louisa — explicou a menina. — Peguei isto no Restaurante Nova York. Achei que provavelmente tinha esquecido de jantar. Cotton baixou os olhos. Lou abriu um espaço na escrivaninha, pousou a comida e serviu o café. Depois, no entanto, não deu meia-volta para sair. — Estou muito ocupado, Lou. Obrigado pela comida. Cotton foi para trás da escrivaninha e sentou, mas não moveu uma única folha de papel, não abriu um só livro.
— Desculpe por eu ter falado na audiência — disse Lou. — Não faz mal. No seu lugar, acho que teria feito a mesma coisa. — Você estava realmente muito bem. — Muito pelo contrário. Fui um completo fracasso. — Mas o julgamento ainda não começou. Ele tirou os óculos e esfregou-os com a gravata. — A verdade é que há anos eu não enfrento uma ação de verdade, e já não era muito bom quando enfrentava. Só tenho arquivado documentos, redigido escrituras e testamentos, esse tipo de coisa. Nunca enfrentei um advogado como Goode. Ele tornou a pôr os óculos, vendo claramente talvez pela primeira vez naquele dia. — Não gostaria de fazer promessas que não vou poder cumprir. Essas palavras ficaram entre eles como uma parede de chamas. — Confio em você, Cotton. Aconteça o que acontecer, confio em você. Queria que soubesse disso. — Mas por que diabo você haveria de confiar em mim? Não fiz nada além de desapontá-la. E citei uns pobres poemas que nada podem mudar. — Não, você tentou ajudar ao máximo. — Jamais poderei ser o homem que seu pai era, Lou. Na realidade, parece que fiquei muito abaixo de todas as expectativas. Lou continuou parada ao lado dele. — Me promete uma coisa, Cotton? Promete que nunca vai nos deixar? Após alguns momentos, Cotton pôs a mão no queixo da menina e disse numa voz baixa, mas que de modo algum perdeu sua energia: — vou ficar com vocês pelo tempo que vocês quiserem. CAPÍTULO TRINTA E OITO Na frente do fórum, havia Fords, Chevys e Chryslers estacionados ao lado de carroças puxadas por mulas e cavalos. A neve fina tinha deixado uma camada muito branca sobre tudo, mas ninguém prestava muita atenção. Estavam todos se dirigindo para o fórum, onde haveria um show muito mais grandioso. ':) A sala de audiências nunca comportara tantas almas. Todos os lugares do grande saguão estavam ocupados. Havia gente em pé nos fundos e até mesmo entupindo, como sardinha em lata, um balcão do segundo andar. Eram homens da cidade, de terno e gravata, mulheres com os vestidos que usavam na igreja e chapéus quadrados com véus, flores artificiais ou cachos de frutas. Perto delas havia sitiantes com macacões limpos e chapéus de feltro na mão, o fumo de mascar guardado nos bolsos. Suas mulheres estavam ao lado, com vestidos Chop até os tornozelos e óculos de aro fino em rostos cansados, enrugados. Todos olhavam ansiosamente ao redor, como se em breve alguma rainha ou alguma estrela do cinema fosse entrar pela porta. As crianças se apertavam entre os adultos como cimento entre tijolos. Para ver melhor, um menino subiu no parapeito de uma galeria e se agarrou a uma das colunas. Um homem o puxou para baixo, advertindo-o num tom severo que aquilo era um tribunal de justiça, onde as pessoas tinham de se comportar com decoro, não de modo idiota. Envergonhado, o garoto saiu de mansinho. O homem, então, subiu no parapeito, para pelo menos ele ter uma visão melhor. Quando Cotton, Lou e Oz subiam a escada do fórum, um menino de capa, calça comprida e brilhantes sapatos pretos correu na direção deles. — Meu pai diz que vocês estão prejudicando a cidade inteira por causa de uma mulher. Ele
acha que temos de fazer o máximo para que o pessoal do gás não saia daqui. — O garoto olhava para Cotton como se o advogado tivesse cuspido na mãe dele e rido depois. — Será que é isso mesmo? — disse Cotton. — Bem, eu respeito a opinião de seu pai, embora não concorde com ela. Mas diga a ele que estou à disposição se ele quiser discutir o assunto pessoalmente comigo. — Cotton olhou em volta e viu alguém que certamente era o pai, pois a criança não parava de encará-lo. O homem, no entanto, logo desviou o olhar. Cotton olhou de relance para os carros e carroças e disse para o menino: — É melhor você entrar agora com seu pai ou vão ter de ficar em pé. Parece que o fórum virou um lugar muito popular. Cotton entrou na sala de audiências impressionado com o número de espectadores. Sem dúvida, a fase mais dura do trabalho na terra já acabara e as pessoas tinham tempo disponível. Para os citadinos era um show acessível, prometendo fogos de artifício a um preço justo. Parecia que eles não estavam determinados a perder um único artifício legal, um único subterfúgio semântico. Para muitos, aquele seria provavelmente o momento mais vibrante de suas vidas. E isso não era mau, Cotton pensou. Mas Cotton sabia que as apostas eram altas. Um lugar morrendo, à espera de ser ressuscitado por uma empresa de bolso recheado. E tudo que ele tinha para opor a isso era uma senhora idosa deitada numa cama, cujos sentidos aparentemente não funcionavam mais. Claro, havia também duas crianças ansiosas contando com ele e, jazendo em outra cama, uma mulher a quem talvez entregasse o coração se um dia ela despertasse. Deus, será que teria forças para enfrentar tanta coisa? — Procurem um lugar — disse Cotton às crianças. — E fiquem quietas. — Boa sorte. — Lou deu-lhe um beijo no rosto e cruzou os dedos, enquanto um lavrador conhecido abria espaço para os dois numa das fileiras de bancos. Cotton subiu o corredor, acenando para as pessoas que reconhecia na multidão. Chapados na primeira fila, estavam Miller e Wheeler. Goode se achava na mesa da promotoria, feliz como um homem faminto num piquenique de igreja. Seus olhos contemplavam a multidão ansiosa para testemunhar a contenda. — Está pronto para chutar a bola? — disse Goode. — Tão pronto quanto você-respondeu Cotton heroicamente. Goode deu uma risada. — com todo o devido respeito, eu duvido disso. Fred, o oficial de justiça, apareceu e disse suas palavras oficiais. Logo todos se levantavam. A corte do meritíssimo Henry J. Atkins estava agora em sessão. — Mandem entrar o júri — disse o juiz a Fred. O júri ocupou seus lugares. Cotton examinou um por um dos jurados, e quase caiu no chão quando viu George Davis como um dos escolhidos. — Juiz — trovejou ele —, George Davis não era um dos jurados que tínhamos selecionado! Ele tem um nítido interesse no resultado desta ação. Atkins se inclinou para a frente: — Escute, Cotton, você sabe da dificuldade que tivemos para conseguir os jurados. Tivemos que dispensar Leroy Jenkins porque ele levou um coice da mula. Sei que George Davis não é exatamente o sujeito mais popular do local, mas tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outro. — O juiz se virou para o lado. — Você acredita, George, que será capaz de manter a mente aberta e analisar com justeza este caso? com sua roupa de missa, Davis parecia inteiramente respeitável. — Sim, senhor — respondeu ele num tom gentil e olhou em volta.— Ora, todos nós frequentávamos a casa de Louisa, bem ao lado da mina. Sempre nos demos bem. — Mostrou um sorriso com dentes escuros. Foi um movimento difícil, como se ele nunca tivesse tentado fazer aquilo
antes.
— Tenho certeza que o sr. Davis será um excelente jurado, meritíssimo — disse Goode. — Nenhuma objeção de minha parte. Cotton olhou para Atkins e a curiosa expressão na cara do juiz o fez pensar duas vezes no que realmente estava acontecendo ali. Lou observava lá de trás, resmungando em silêncio. Aquilo estava errado. Teve vontade de se levantar e dizer isso, mas pela primeira vez na vida sentiu-se bastante intimidada. Afinal, estava num tribunal de justiça. — Ele está mentindo! — A voz ecoou e todas as cabeças ali presentes se viraram para o ponto de onde ela vinha. Quando Lou olhou para o lado, Oz, parecendo mais alto que todo mundo na corte, estava de pé na frente de seu banco. Os olhos pareciam em brasa e o dedo apontava direto para George Davis. — Ele está mentindo! — Oz berrou de novo com uma voz tão forte que mesmo Lou teve dificuldade em reconhecê-la como a voz do irmão. — Ele odeia Louisa. É errado ele estar aqui! Pasmado como todos os outros, Cotton olhava ao redor. O juiz Atkins encarava o menino, e não era de modo algum uma expressão satisfeita. Goode estava prestes a saltar de pé. O olhar de Davis parecia tão febril que Cotton deu graças a Deus pelo homem não estar segurando uma arma. Cotton correu para Oz e pegou-o pela mão. — Ao que parece, a propensão para espetáculos públicos corre no sangue da família Cardinal — rosnou Atkins. — Não podemos ter isto aqui, Cotton! — Eu sei, meritíssimo. Eu sei. — Não está certo — gritava Oz. — Esse homem é um mentiroso! Lou parecia assustada. — Oz — dizia ela —, por favor, já chega! — Não, não chega, Lou — respondia Oz. — Aquele homem é detestável. Deixa a família passar fome. F mau! — Cotton, tire agora esta criança daqui! — berrou o juiz. Neste minuto! Cotton levou Oz para fora, com Lou correndo atrás. Sentaram-se na escadaria fria do tribunal. Oz não estava chorando. Ficou apenas sentado, os pequenos punhos esmurrando as coxas magras. Lou sentiu as lágrimas correrem pelo rosto ao ver o estado do irmão. Cotton pôs o braço em volta dos ombros de Oz. — Isso não é direito, Cotton — disse Oz. — Simplesmente não é. — O menino continuava socando as pernas. — Eu sei, filho. Eu sei. Mas tudo vai dar certo. Sabe, ter George Davis naquele júri pode ser uma boa coisa para nós. — Como assim? — Oz parou de se esmurrar. — É um dos mistérios da lei, Oz, mas quanto a isso você vai ter de confiar em mim. Bem, suspeito que vocês dois continuam querendo assistir ao julgamento. — Ambos disseram que realmente estavam muito dispostos a ver. Cotton olhou em volta e viu o subdelegado Howard Walker parado junto à porta. — Howard, está um pouco frio para essas crianças esperarem aqui fora. Se eu garantir que elas não vão mais se manifestar, será que não acharia um meio de escondê-las em algum lugar? Eu não posso demorar mais, percebe? Walker sorriu e pôs a mão no cinto de munições. — Venham comigo, crianças. Vamos deixar Cotton fazer sua mágica. — Obrigado, Howard — disse Cotton —, mas saiba que ajudar-nos pode lhe custar alguma impopularidade nesta cidade. — Meu pai e meu irmão morreram naquelas minas. Quero que a Southern Valley vá para o inferno. Pode ir tranquilo e mostrar a eles como é bom advogado. Depois que Cotton se afastou, Walker levou Lou e Oz por uma entrada dos fundos e, após
ouvir de Oz a solene promessa de que ele não voltaria a se manifestar, instalou-os num canto do balcão reservado para visitantes especiais. Lou se virou para o irmão e sussurrou: — Oz, você foi realmente corajoso em fazer o que fez. Eu fiquei com medo. — Quando Oz sorriu, Lou percebeu o que estava faltando. — Ei, onde está o urso que eu lhe dei? — Droga, Lou, já estou velho demais para ursos ou para chupar o dedo! Lou olhou para o irmão, percebendo de imediato como ele tinha razão. E uma lágrima se agarrou no seu olho, pois imaginara Oz crescido, forte, sem precisar mais do seu apoio de irmã mais velha. Na frente da sala de audiências, Cotton e Goode estavam tendo um caloroso debate com o juiz Atkins. — Agora escute aqui, Cotton — dizia Atkins. — Não me esqueci do que disse sobre George Davis e sua objeção foi devidamente registrada nos autos, mas Louisa trouxe ao mundo dois daqueles jurados e a promotoria não se opôs. — Ele olhou para Goode. — Dr. Goode, será que nos permitiria um minuto de conversa a sós? O advogado pareceu chocado. — Meritíssimo, uma conversa separada com uma das partes? Não fazemos esse tipo de coisa em Richmond. — Bem, a droga do lugar em que vivemos não é Richmond. Agora, por favor, nos dê um instante. — Atkins sacudiu a mão como se enxotasse moscas, e Goode voltou relutantemente à sua mesa. — Cotton — disse Atkins —, nós dois sabemos que há muitos interesses envolvidos neste caso e nós dois sabemos por quê: dinheiro! Veja, Louisa está internada no hospital e a maioria das pessoas acha que ela nunca vai se recuperar. E enquanto isso a Southern Valley fica contando as suas notas na cara de todo mundo. Cotton abanou a cabeça. — Então acha que o júri vai se colocar contra nós a despeito dos méritos do caso? — Bem, não tenho certeza absoluta, mas se você perder neste tribunal... — A presença de George Davis no júri me daria uma base realmente sólida para uma apelação — concluiu Cotton. — Ora, eu nem tinha pensado nisso... — Atkins pareceu satisfeito pelo fato de Cotton ter apreendido tão rapidamente a estratégia. — Felizmente você pensou. Agora vamos abrir o show. Cotton voltou para sua mesa enquanto Atkins batia o martelo e anunciava. — O júri considere-se então referendado. Podem se sentar. O júri obedeceu coletivamente. Atkins examinou-os devagar até seu olho pousar em Davis. — Agora mais uma coisa antes de começarmos. Há trinta e quatro anos me encosto nesta cadeira e nunca um membro do júri foi desonesto ou ardiloso nas dependências de minha corte. Isto nunca aconteceu nem acontecerá, pois se acontecer os responsáveis vão achar uma brincadeira passar a vida inteira numa mina de carvão, uma festa de aniversário comparado ao que vou fazer com eles. — Deu mais uma boa olhada em Davis, virou-se com ar semelhante para Goode e Miller, e depois concluiu: — Como as partes abriram mão dos libelos iniciais, a promotoria pode chamar sua primeira testemunha. — A promotoria chama o Dr. Luther Ross — disse Goode. O pesadão Dr. Ross se levantou e foi para o banco das testemunhas. Tinha a gravidade de que os advogados gostavam, pelo menos quando o sujeito estava do lado deles; caso contrário, seria apenas um mentiroso bem pago. Fred ajudou-o a prestar juramento. — Levante sua mão direita e ponha a esquerda sobre a Bíblia. Jura solenemente dizer a
verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade com a ajuda de Deus? Ross garantiu que, com toda a certeza, diria a verdade, nada mais que a verdade e encaixou-se no banco das testemunhas. Fred deu meia-volta e Goode se aproximou. — Por favor, Dr. Ross, poderia declarar suas excelentes credenciais ao júri? — Sou diretor do asilo que fica abaixo de Roanoke. Tenho ministrado cursos de avaliação mental no Instituto Médico de Richmond e na Universidade da Virginia. E cuidei pessoalmente de mais de dois mil casos como este. — Bem, tenho certeza de que o Dr. Longfellow e esta corte concordariam que o senhor é realmente um perito na área. Na realidade, talvez possamos considerá-lo a autoridade número um em seu campo e eu diria que este júri merece ter uma testemunha do seu nível. — Protesto, meritíssimo! — disse Cotton. — Não temos nenhuma evidência de que o Dr. Goode esteja gabaritado para atribuir posições numa escala de perícia. — Protesto aceito, Cotton — disse Atkins. — Continue, Dr. Goode. Goode sorriu maliciosamente, como se tivesse provocado aquele pequeno conflito para avaliar a fibra de Cotton. — Diga-me, Dr. Ross — começou Goode —, o senhor já teve oportunidade de examinar Louisa Mae Cardinal? — Já. — E na condição de especialista, qual é sua opinião quanto à competência mental daquela senhora? Ross bateu no parapeito da grade de madeira com uma das mãos gorduchas. — Ela não é mentalmente capaz. De fato, minha opinião abalizada é que devia ser interditada. Houve um rumor alto na assistência e Atkins bateu impacientemente o martelo. — Silêncio! — Interditada? — continuou Goode. — Ora, ora. Mas isso é um assunto um tanto sério. Acha, então, que ela não está em condições de cuidar dos próprios negócios? Cuidar, por exemplo, da venda da propriedade? — Absolutamente não está. Poderia ser facilmente enganada. Entendam, aquela pobre mulher não consegue sequer assinar o próprio nome. Provavelmente nem sabe como se chama. — Ross encarou o júri com ar de extrema autoridade e, no tom estudado de um ator no palco, repetiu: — Interditada. Goode fez uma série de outras perguntas, todas cuidadosamente montadas, e para cada uma recebeu as respostas que queria: Louisa Mae Cardinal estava sem dúvida mentalmente incapacitada, segundo o valoroso perito Dr. Luther Ross. — Sem mais perguntas — disse Goode por fim. — Dr. Longfellow? — disse Atkins. — Acredito que deseje inquirir a testemunha... Cotton se levantou, tirou os óculos sem fechar as hastes e se dirigiu à testemunha. — O senhor disse que examinou mais de duas mil pessoas? — Exatamente — disse Ross empinando ligeiramente o peito. — E quantas o senhor julgou incapazes? O peito de Ross de imediato se esvaziou. Sem a menor dúvida ele não esperava aquela pergunta. — Hum, bem, é difícil dizer. Cotton olhou de relance para o júri e moveu-se na direção dele. — Não, realmente não é. O senhor tem meramente de dizer. Deixe-me ajudá-lo um pouco. Cem por cento? Cinquenta por cento? — Cem por cento não. — Nem cinquenta. — Não.
— Vamos vasculhar mais um pouco. Oitenta por cento? Noventa? Noventa e cinco por cento? Ross pensou alguns momentos. — Noventa e cinco por cento parece razoável. — Está bem. Então vamos ver. Acho que isso corresponde a mil e novecentas pessoas dentre duas mil. Deus, é um monte de gente maluca, Dr. Ross! A assistência riu e Atkins bateu o martelo, embora um leve sorriso tenha escapado de seus lábios. Ross encarou o advogado. — Me limitei a registrar o que vi — disse ele. — Dr. Ross, quantas vítimas de ataque cardíaco o senhor examinou para determinai se eram mentalmente competentes? — Hum, bem, não posso me lembrar de repente. Cotton começou a andar de um lado para outro diante do banco das testemunhas. Ross não tirou os olhos do advogado e um fio de suor apareceu em sua testa. — Suponho que a maioria das pessoas que o senhor examinou tivessem de fato algum problema mental. Aqui, no entanto, temos uma vítima de ataque cardíaco cuja incapacidade física pode fazê-la parecer mentalmente incapaz, embora ela possa estar plenamente consciente. — Cotton procurou e descobriu Lou no balcão. — Quero dizer, o fato de uma pessoa não poder falar ou se mexer não indica que não possa compreender o que acontece à sua volta. Ela pode muito bem estar vendo, ouvindo e entendendo tudo. Tudo! Cotton recuou um pouco e encarou a testemunha. — E se lhe for dado tempo, pode muito bem se recuperar inteiramente... — Não é admissível que a mulher que eu vi se recupere. — O senhor também é doutor em medicina ou especialista em ataques cardíacos? — perguntou Cotton num tom agudo. — Bem, não. Mas... — Então gostaria que o tribunal instruísse o júri para não levar em conta este depoimento. Atkins se virou para o grupo de jurados. — Quero instruí-los para que não seja considerada a afirmação do Dr. Ross segundo a qual a Sra. Cardinal não poderia se recuperar. Está mais do que claro que ele não é competente para testemunhar a esse respeito. Goode e Ross trocaram olhares ante a escolha de palavras do juiz e Cotton pôs a mão na boca para esconder o sorriso. — Dr. Ross — continuou Cotton —, na realidade o senhor não pode nos garantir que hoje, amanhã ou depois de amanhã Louisa Mae Cardinal não estará perfeitamente habilitada para cuidar de seus negócios, certo? — A mulher que eu examinei... — Por favor responda à pergunta que eu fiz, senhor. — Não. — Não o quê? — Cotton acrescentou num tom gentil. Declare para este ótimo corpo de jurados. com ar frustrado, Ross cruzou os braços. ! — Não, não posso dizer com certeza que a Sra. Cardinal não vá se recuperar hoje, amanhã ou depois de amanhã. Goode se levantou de imediato. — Meritíssimo, percebo onde a defesa quer chegar e acho que tenho uma solução. Por ora devemos acatar o testemunho do Dr. Ross sobre a incapacidade da Sra. Cardinal. Se ela melhorar, e todos esperamos que isso aconteça, o tutor designado por este tribunal poderá ser dispensado e, a partir de então, ela própria passará a gerir os seus negócios. — Quando isto acontecer — disse Cotton —, ela já não será dona de terra alguma.
Goode aproveitou a deixa. — Nesse caso a Sra. Cardinal poderá certamente ter o consolo do meio milhão de dólares que a Southern Valley ofereceu pela propriedade. Uma grande arfada atravessou a multidão com a menção da impiedosa soma. Um homem quase caiu de um balcão e seus vizinhos tiveram de puxá-lo para a segurança. As crianças, tanto de cara suja quanto de cara limpa, olhavam umas para as outras, olhos esbugalhados. E as mães e os pais estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Os jurados também olharam uns para os outros em nítido assombro. George Davis, contudo, se conservou impassível, os olhos fixos num ponto à frente, sem deixar transparecer qualquer emoção. Goode continuou quase de imediato: — E tenho certeza que outros também ficarão consolados quando a companhia fizer a eles ofertas semelhantes. Ao olhar em volta, Cotton concluiu que em breve sua carreira de advogado estaria terminada. Viu tanto os moradores da montanha quanto os citadinos abrirem a boca para ele: o único homem que se colocava no caminho da fortuna que mereciam ter. Mesmo, no entanto, com todo esse peso, Cotton conseguiu manter a mente clara: — Juiz — bradou ele — o Dr. Goode está tentando subornar o júri com essa declaração! vou pedir anulação do julgamento. O que minha cliente pode esperar de quem vive sacudindo a bolsa de dólares da Southern Valley? Goode sorriu para o júri. — Retiro a declaração. Desculpe, Dr. Longfellow. Não pretendi causar dano. Atkins se recostou na cadeira. — Não vai conseguir uma anulação, Cotton. Pois onde mais irá julgar esta coisa? Todo mundo num raio de cem metros compareceu a esta corte e o próximo fórum está a um dia de distância, um dia de trem. Para complicar, o juiz de lá não é de modo algum compreensivo como eu. — Ele se virou para o júri. Agora escutem. Quero que ignorem a declaração do Dr. Goode sobre a oferta de compra da terra da Sra. Cardinal. Ele não devia ter dito isso e vocês têm de esquecer o que ouviram. E estou falando sério! Em seguida Atkins se concentrou em Goode. — Sei que tem ótima reputação, doutor, e de jeito nenhum gostaria de ser o primeiro a manchá-la. Mas se tocar novamente numa coisa dessas, vou conseguir uma cela neste prédio para o senhor cumprir uma pena por desacato. E vou me esquecer que o coloquei lá dentro. Está me entendendo? Goode abanou a cabeça e disse humildemente: — Sim, meritíssimo. — Cotton, tem mais perguntas a fazer ao Dr. Ross? — Não, juiz — disse Cotton deixando-se cair em sua cadeira. Goode chamou Travis Barnes para depor. Embora quisesse ajudar Louisa, o bom dr Barnes, engenhosamente manobrado por Goode, acabou apresentando um diagnóstico não muito bom. No final, Goode sacudiu uma foto diante dele. — Esta é sua paciente, Louisa Mae Cardinal? — Sim — disse Barnes olhando a fotografia. — Tenho permissão para mostrá-la ao júri? — Vá em frente, mas seja rápido — disse Atkins. Goode jogou uma cópia da foto diante de Cotton. Cotton nem sequer a olhou. Simplesmente rasgou-a em dois pedaços e jogou-os na escarradeira perto de sua mesa. Enquanto isso, Goode fazia o original desfilar na frente do rosto dos jurados. A julgar pelos ruídos, resmungos mudos e balanços de cabeça, a manobra teve o efeito pretendido. O único que não parecia impressionado era George Davis. Ele segurou a foto por um tempo particularmente longo e Cotton achou que devia estar se esforçando tremendamente para esconder sua satisfação. Feito o prejuízo, Goode voltou a se sentar. — Travis — disse Cotton, erguendo-se para ficar ao lado de seu amigo —, já tinha tratado de algum problema de saúde de Louisa Cardinal? — Sim, já. Duas vezes.
— Pode nos contar sobre esses problemas, por favor? — Há cerca de dez anos, ela foi mordida por uma cobra. Ela mesma matou a maldita com a enxada e desceu a serra a cavalo para me consultar. Quando chegou lá, a inchação já havia deixado o braço do tamanho de minha perna. O estado dela parecia realmente grave. Eu nunca vira uma febre tão alta. Passou dias voltando a si e perdendo a consciência. Mas conseguiu sarar, justo quando achávamos que não ia conseguir. Lutou como uma mula para sobreviver. — E da outra vez? — Pneumonia. Naquele inverno, quatro anos atrás, quando caiu mais neve que no Pólo Sul. Estão lembrados? — Na audiência, todos abanaram a cabeça. — Ficou impossível subir ou descer da montanha. Demoraram quatro dias para se comunicar comigo. Cheguei lá e tratei-a quando a tempestade terminou, mas ela já havia superado sozinha a fase pior. A coisa teria acabado com uma pessoa jovem, mesmo tomando remédios, e lá estava Louisa com seus setenta anos e sem uma única gota de qualquer remédio. Só com sua vontade de viver. Nunca tinha visto algo assim. Cotton deu alguns passos para o lado e parou perto do júri. — Ela parece, então, uma mulher de espírito indomável. Um espírito que não pode ser derrotado. — Protesto, meritíssimo — disse Goode. — Está fazendo um interrogatório ou um pronunciamento divino, Dr. Longfellow? — Espero que ambos, Dr. Goode. — Bem, vamos pôr a coisa assim... — disse Barnes. — Se eu fosse de apostar, jamais apostaria contra aquela mulher. Cotton olhou para o júri. — Nem eu. Sem mais perguntas. — Quem vai chamar agora, Dr. Goode? — perguntou Atkins. O advogado da União se levantou e deu uma olhada na sala. Continuou sondando e sondando até fixar os olhos no balcão, movê-los pelas beiradas e pousá-los nos rostos de Lou e Oz. Por fim, só no rosto de Oz. — Ei, rapaz, por que não desce até aqui e conversa conosco? Cotton ficara de pé. — Meritíssimo, não vejo justificativa... — Juiz — interrompeu Goode —, se trata das crianças que terão um tutor nomeado e por isso acho razoável ouvir pelo menos uma delas. E para um menino pequeno ele tem uma voz bastante potente. Todos nesta corte já tiveram a oportunidade de ouvi-lo em alto e bom som. Houve um murmúrio de riso na assistência e Atkins bateu o martelo com ar distraído. Durante seis rápidas batidas do coração de Cotton, ele avaliou a petição de Goode. — vou autorizar. Mas lembre-se, Goode, ele é apenas um menino. — Tem toda a razão, meritíssimo. Lou pegou Oz pela mão. Os dois desceram lentamente a escada e passaram por cada um dos bancos. Todos os olhos repousaram neles. Enquanto Oz punha a mão sobre a Bíblia e jurava, Lou retornava a seu lugar. Oz se empoleirou na cadeira. Parecia tão pequeno e indefeso que o coração de Cotton se contraiu quando Goode se moveu na direção dele. — Vamos começar, sr. Oscar Cardinal. — Meu nome é Oz e o nome de minha irmã é Lou. Não a chame de Louisa Mae ou algo parecido porque ela vai ficar furiosa e lhe dar um soco. Goode sorriu. — bom, não se preocupe com isso. Então é Oz e Lou. Ele se debruçou no parapeito do banco de testemunhas. — bom, você sabe que toda a corte lamenta que o estado de sua mamãe continue tão
ruim...
— Ela vai melhorar. — Verdade? É o que dizem os médicos? Oz virou os olhos para Lou, mas Goode pôs o dedo em seu rosto e o fez olhar de novo para a frente. — Filho, aqui no banco das testemunhas você tem de dizer a verdade. Não pode olhar para sua irmã mais velha à procura de respostas. Jurou por Deus que ia dizer a verdade. — Eu sempre digo a verdade. Juro pela minha mãe morta! — bom garoto. Então, vamos lá. Os médicos dizem que sua mãe vai melhorar? — Não. Eles diziam que não tinham certeza. — Então como sabe que ela vai melhorar? — Porque... porque fiz um pedido. N. — Poço dos desejos? — disse Goode olhando para o júri. Sua expressão revelava claramente o que ele achava daquela resposta. — Há um poço dos desejos por aqui? Eu desejaria muito que tivéssemos um em Richmond. A assistência riu e o rosto de Oz ficou meio rosado. — Existe um poço dos desejos — disse ele se contorcendo na cadeira. — Meu amigo Diamante Skinner nos contou. Você faz um pedido, entrega a coisa mais importante que tem e seu desejo será atendido. — Parece realmente ótimo. E você me disse que fez um pedido? — Sim, senhor. — E entregou a coisa mais importante que tinha. O que era? — Oz deu uma olhada nervosa na sala. — A verdade, Oz. Lembre que prometeu a Deus, meu filho! Oz respirou fundo. — Meu urso. Entreguei meu urso. Houve risos abafados da assistência até as pessoas verem a lágrima escorrer pelo rosto do menino. Aí não houve mais graça. — Seu desejo já foi atendido? — perguntou Goode. Oz balançou a cabeça. — Não. — Fez seu pedido há muito tempo? — Sim — respondeu Oz em voz baixa. — E sua mãe continua muito doente, não é? — Continua — disse Oz numa voz muito fraca, curvando a cabeça. Goode pôs as mãos nos bolsos. — Bem, a triste verdade, filho, é que as coisas não acontecem só porque desejamos que aconteçam. Não é assim na vida real. E você sabe que sua bisavó também está muito doente, não sabe? — Sei, sim, senhor. — Fez também um pedido por ela? — Esqueça isso, Goode — disse Cotton se levantando. — Está bem, está bem. Oz, você sabe que não pode viver sozinho, certo? Se sua bisavó não melhorar, vocês terão, pela lei, de ter um adulto em casa... ou irem para um orfanato. Você não quer ir para uma porcaria de orfanato, certo? — Orfanato? — De novo Cotton se levantara. — Quando se falou nisso? — Bem — disse Goode —, se a Sra. Cardinal não tiver outra maravilhosa recuperação, como no caso da cobra e da pneumonia, as crianças terão de ir para algum lugar. E a não ser que os dois tenham algum dinheiro escondido, terão de ir para um orfanato, pois é para onde vão as crianças que não têm mais parentes que possam tomar conta delas nem pessoas de bom caráter, dispostas a
adotá-las. — Podem ir morar comigo — disse Cotton. — Com você? — Goode olhou em volta com um ar de deboche. — Um homem solteiro? Advogado numa cidade que está morrendo? Acho que seria a última pessoa da terra a quem um tribunal concederia a guarda destas crianças. — Goode se virou para Oz. — Você não gostaria de viver numa casa de verdade, com alguém que se preocupasse realmente com você? Gostaria disso, não é? — Não sei. — É claro que sim. Orfanatos não são exatamente os lugares mais agradáveis do mundo. Algumas crianças ficam lá para sempre. — Meritíssimo — disse Cotton —, isso tem algum outro sentido além de aterrorizar a testemunha? — Era justamente o que eu ia perguntar ao Dr. Goode — declarou Atkins. Foi Oz, no entanto, quem prosseguiu. — E Lou também poderia ir? Quer dizer, não para o orfanato, mas para o outro lugar? — Ora, claro, meu filho, claro que sim! — disse Goode rapidamente. — Jamais se deve separar irmão e irmã — acrescentou em voz baixa. — Mas não há garantias de que isso não aconteça num orfanato. — Fez uma pausa. — Com você, então, não haveria problema, certo, Oz? Oz hesitou e tentou olhar para Lou, mas Goode foi mais rápido e bloqueou sua vista. — Acho que tudo bem — disse finalmente o menino, em voz baixa. Cotton ergueu os olhos para o balcão. Lou estava de pé, os dedos agarrados no corrimão, o olhar ansioso fixado em Oz. Goode se aproximou do júri e passou espalhafatosamente a mão nos olhos. — É um bom garoto. Sem mais perguntas. — Cotton? — disse Atkins. Goode se sentou e Cotton se levantou. Ficou um instante imóvel, os dedos agarrando a ponta da mesa, os olhos fixos no menino arrasado que ocupava a grande cadeira das testemunhas; um menino que, Cotton sabia, só queria se levantar e voltar para perto da irmã, pois devia estar com um medo mortal de orfanatos, de enormes salas cheias de estranhos olhando para ele e de advogados gordos, cheios de palavras e de perguntas complicadas. — Nenhuma pergunta — disse Cotton em voz muito baixa e Oz voltou correndo para junto da irmã. Novas testemunhas desfilaram ante a corte, deixando claro que Louisa era absolutamente incapaz de tomar qualquer decisão consciente. Cotton só conseguiu neutralizar detalhes ou pequenos lapsos dos depoimentos. Por fim, os trabalhos daquele dia foram suspensos e Cotton deixou a corte com as crianças. Do lado de fora, foram interceptados por Goode e Miller. — Está travando uma boa batalha, Dr. Longfellow — disse Goode —, mas todos sabemos no que isto vai dar. O que acha de colocarmos agora um ponto final nesta coisa? Poupar as pessoas de novos constrangimentos. — Disse isto olhando para Lou e para Oz. Quando começou a dar tapinhas na cabeça de Oz, o menino atirou-lhe um olhar febril, um olhar que fez Goode tirar a mão antes que algo acontecesse com ela. — Escute, Longfellow — disse Miller, tirando um pedaço de papel do bolso. — Tenho aqui um cheque de meio milhão de dólares. Basta terminar com este espetáculo ridículo e ele é seu. Cotton olhou para Oz e para Lou. — Escute aqui, Miller — disse. — vou levar isto até o fim pelo bem das crianças. Digam o
que disserem, é o que vou fazer. Miller se abaixou e sorriu para Lou e Oz. — Este dinheiro pode ser de vocês agora. Para que comprem o que quiserem. Vão poder morar numa grande casa com um carro fantástico na porta e gente paga tomando conta de vocês. Uma vida realmente muito boa. O que me dizem, crianças? — Já temos uma casa — respondeu Lou. — Tudo bem, o que me dizem então da mamãe? Gente no estado dela precisa de muitos cuidados médicos e eles não são baratos. — Miller sacudia o cheque na frente da menina. Isto resolve todos os seus problemas, senhorita! Goode também se abaixou e olhou para Oz. — E isto vai deixar longe, bem longe de você aqueles horríveis orfanatos. Quer ficar ao lado de sua irmã, não quer? — Pode guardar a droga do seu dinheiro — disse Oz. — Não queremos nem precisamos dele. E Lou e eu sempre vamos ficar juntos. No orfanato ou não! Oz pegou a mão da irmã e começou a se afastar com ela. Cotton observou os homens se levantando, Miller furioso, tornando a guardar o cheque no bolso. — Ouvimos o que era preciso da boca das crianças — disse Cotton. — Acho que devíamos aprender com elas. — E também se afastou. De volta ao sítio, Cotton discutiu o assunto com Lou e Oz. — A não ser que Louisa possa entrar andando amanhã naquela corte, acho que ela vai perder sua terra. — Olhou para os dois. — Mas aconteça o que acontecer, estarei sempre aqui. vou tomar conta de todos vocês. Disso não tenham medo. Jamais irão para um orfanato! E nunca serão separados. Eu juro! — Lou e Oz deram o abraço mais apertado do mundo em Cotton, que foi embora para preparar o último dia do julgamento. Talvez seu último dia naquela montanha. Lou preparou o jantar para Oz e Eugene e foi alimentar a mãe. Depois sentou-se um longo tempo na frente do fogo enquanto deixava as ideias correrem. Embora fizesse muito frio, tirou Sue do celeiro, montou e subiu com ela na colina atrás da casa. Rezou diante de cada túmulo, demorando-se mais no menor deles: o de Anniei Se tivesse sobrevivido, Annie teria sido sua tia-avó. Lamentava que o pequeno bebê de Louisa não tivesse crescido e que nunca as duas tivessem tido oportunidade de se encontrar. Havia muitas estrelas naquela noite e Lou observou as montanhas esbranquiçadas. A claridade multiplicava milhares de vezes o brilho do gelo pousado em cada galho, tornando-o quase mágico. Naquele momento a terra não podia oferecer qualquer ajuda à menina, mas havia uma coisa que ela, Lou, podia fazer sozinha. Algo que há muito tempo já devia ter sido feito. Um erro, no entanto, só seria um erro enquanto não fosse corrigido. Fez Sue voltar, guardou a égua no celeiro e foi para o quarto da mãe. Sentou-se na beira da cama, pegou a mão de Amanda e ficou um instante sem se mexer. Por fim se inclinou e beijou o rosto da mãe, enquanto as lágrimas lhe corriam pelo rosto. — Aconteça o que acontecer, sempre estaremos juntos. Eu prometo. Você sempre poderá contar comigo e com o Oz. Sempre! — Enxugou as lágrimas. — Sinto muita saudade de você. — Lou tornou a beijá-la. — Amo você, mãe! — A menina saiu correndo do quarto e por isso não viu a lágrima caindo solitária do olho de Amanda. Quando Oz entrou, Lou estava deitada na cama, soluçando baixo. Ela nem tentou parar de chorar e Oz se deitou a seu lado, abraçou-a. — Tudo vai ficar bem, Lou, você vai ver. Lou se sentou, enxugou o rosto e olhou para o irmão. — Acho que precisamos de um milagre.
— Posso fazer outra tentativa n — disse ele. Lou balançou a cabeça. — E o que iríamos entregar em troca do pedido? Já perdemos tudo. Ficaram alguns minutos em silêncio até Oz ver a pilha de cartas na escrivaninha de Lou. — Leu todas elas? — perguntou ele, e Lou respondeu que sim com um movimento de cabeça. — Gostou? A cara de Lou era de quem começaria de novo a chorar. — São maravilhosas, Oz. Papai não era o único escritor da família. — Não pode ler mais algumas para mim? Por favor? Lou acabou dizendo que sim, ia ler, e Oz se instalou na cama e fechou com força os olhos. — Por que está fazendo isso? — perguntou ela. — Se fecho os olhos quando você está lendo é como se mamãe estivesse bem aqui, falando comigo. — Oz, você é um gênio! — Lou olhou para as cartas como se fossem barras de ouro. — Sou? Por quê? O que eu fiz? — Acabou de resolver o problema do nosso milagre. Densas nuvens tinham parado sobre as montanhas e pareciam não ter a menor intenção de sair tão cedo dali. Sob uma chuva muito fria, corriam Lou, Oz e Jeb. Gelados até os ossos, logo atingiram a clareira onde ficava o velho poço seco. Correram até a beira. O urso de Oz e a foto ainda estavam lá, ensopados, cobertos de sujeira da chuva. Oz olhou para a foto e sorriu para a irmã. Ela se curvou e pegou o urso, passando-o a Oz. — Pegue seu urso de volta — ordenou ela com carinho. Mesmo que agora já esteja crescido. Ela pôs a foto na bolsa que trouxera. Depois remexeu lá dentro e puxou as cartas. — Tudo bem, Diamante, digamos que estamos dispostos a entregar a coisa mais importante que temos no mundo para funcionar. Não posso conceber nada mais importante que as cartas da mamãe. Pois aqui estão elas! Lou pousou com cuidado o maço de cartas na beirada do poço. Depois colocou uma pedra pesada em cima delas, para que o vento não as levasse. , — Agora temos de fazer o pedido. — Que a mamãe fique boa? Lou balançou devagar a cabeça. — Temos de pedir, Oz, que Louisa vá até aquele fórum. Cotton tem razão. E a única maneira dela conservar sua casa. — Mas e a mamãe? — Oz parecia chocado. — Podemos não ter outra chance de fazer um pedido. — Eu sei — disse Lou, abraçando o irmão —, mas depois de tudo que Louisa fez por nós, pelo menos isso temos de fazer por ela. Louisa também faz parte da família. E essa terra na montanha é tudo para Louisa. Oz acabou abanando tristemente a cabeça. — Você fala então... Lou segurou a mão de Oz e fechou os olhos. Ele fez o mesmo. — Desejamos que Louisa Mae Cardinal se levante da cama e mostre a todos como está bem. — Amém, Jesus — disseram os dois juntos e logo estavam correndo o mais depressa que podiam, fugindo dali, rezando para que pelo menos um desejo fosse atendido por aquela pilha de tijolos velhos e água estagnada. No final da noite, Cotton atravessava a deserta rua principal de Dickens, mãos enfiadas nos bolsos, como o mais sozinho homem do mundo. A chuva fria caía sem parar, mas ele parecia indiferente a ela. Sentou-se num banco e ficou observando o brilho dos lampiões atrás da cortina de chuva. A placa nos postes eram espalhafatosas de tão nítidas: "Southern Valley — Carvão e Gás".
Um caminhão de carvão passou vazio pela rua, estouros saindo do cano de descarga. As pequenas explosões quebravam violentamente o silêncio da noite. Cotton ficou vendo o caminhão se afastar e vergou os ombros. Seu olhar, porém, se concentrou de novo no brilho dos lampiões de luz e foi nesse momento que o lampejo de uma ideia penetrou em sua mente. Ele se aprumou, fitou a traseira do caminhão de carvão e voltou a olhar para o lampião. E então o lampejo se transformou numa ideia firme. Por fim, ensopado de chuva, Cotton Longfellow se levantou do banco e bateu palmas, o que soou como poderoso estouro de trovão. E a ideia firme tinha se transformado numa verdadeira imagem de milagre. Minutos mais tarde, Cotton entrou no quarto de Louisa, parou ao lado da cama e agarrou a mão da mulher inconsciente. — Eu juro, Louisa Mae Cardinal, você não vai perder sua terra! CAPÍTULO TRINTA E NOVE A porta da sala de audiências se escancarou e Cotton entrou sabendo muito bem o que ia fazer. Goode, Miller e Wheeler já estavam lá. E, ao que parecia, além daquele triunvirato, todos os habitantes da cidade e da serra tinham conseguido se introduzir na sala. O meio milhão de dólares que estava em jogo conseguira mexer até com os sentimentos de quem vivia durante muitos anos na apatia. Mesmo um senhor idoso que havia muito alegava ser o mais velho sobrevivente dos soldados rebeldes da Guerra Civil tinha se disposto a participar do último assalto daquele batalha legal. O homem chegara mancando na perna feita de carvalho e mostrando o toco de madeira no lugar do braço direito. A barba, branca como neve, ia até a cintura e a gloriosa medalha dos soldados da Confederação fora presa no peito. Os que estavam sentados no primeiro banco tinham respeitosamente aberto espaço para ele. Lá fora estava frio e úmido, mas as montanhas, enfim se cansando da chuva, tinham rompido as nuvens e as mandado pastar em outra freguesia. Na sala de audiências, o acúmulo do calor dos corpos era tão terrível que a umidade chegava a embaçar as janelas. Todos, no entanto, continuavam lá, de pé ou sentados, tensos, espremidos contra seus vizinhos. — Acho que está mais ou menos na hora de fechar a cortina deste show — Goode comentou amigavelmente com Cotton. Mas o que Cotton viu foi um homem com o olhar saciado de um matador profissional, alguém prestes a soprar a fumaça de seu revólver de seis tiros e bocejar ante um corpo estendido na rua. — Acho que o show está apenas começando — foi a truculenta resposta de Cotton. Assim que o juiz foi anunciado e o júri se instalou, Cotton ficou de pé. — Meritíssimo, eu gostaria de fazer uma proposta à promotoria. — Proposta? — perguntou Atkins. — Onde está querendo chegar, Cotton? — Todos nós sabemos por que estamos aqui. O problema não se trata de saber se Louisa Mae Cardinal é mentalmente incapaz ou não. O problema é o gás. Goode foi se levantando. — A promotoria tem um legítimo interesse em cuidar para que os negócios da Sra. Cardinal... Cotton interrompeu. — O único negócio da Sra. Cardinal é saber se ela quer ou não vender sua terra. Atkins pareceu intrigado. — Qual é sua proposta? — Estou disposto a admitir que a Sra. Cardinal é mentalmente
incapaz. — Bem, agora estamos chegando a algum lugar. — Goode sorria. — Mas em troca quero examinar se a Southern Valley é um pretendente adequado para adquirir sua terra. Goode pareceu atônito. — Deus, é uma das empresas mais sólidas do estado! — Não estou falando de dinheiro — disse Cotton. — Estou falando de moral. — Meritíssimo — disse Goode num tom indignado. — Aproximem-se — pediu Atkins. Cotton e Goode correram para a bancada. — Juiz — disse Cotton —, um longo dispositivo da constituição da Virginia sustenta claramente que quem comete um erro será impedido de se beneficiar dele. — Que absurdo!— disse Goode. Cotton se aproximou do adversário. — Se não me deixar continuar, Goode, tenho meu próprio perito que vai contradizer tudo que disse o Dr. Ross. E se perder aqui, vou apelar. Até chegar ao Supremo, se for preciso. Quando o seu cliente conseguir aquele gás, tenha certeza que todos já estaremos mortos. — Mas sou advogado da União. Não tenho autoridade para representar uma empresa privada. — Nunca ouvi uma declaração mais cínica — disse Cotton. — Mas eu desisto de qualquer objeção e concordo em acatar a decisão deste júri, mesmo com a deplorável parcialidade de George Davis ali sentado. — Goode estava olhando para Miller em busca de uma orientação e Cotton lhe deu uma cotovelada. — Oh, Goode, vá falar com seu cliente. Pare de perder tempo. com um ar de constrangimento, Goode escapuliu e teve uma acalorada discussão com Miller, que olhava repetidamente para Cotton. Miller finalmente abanou a cabeça e Goode voltou. — Nenhuma objeção. O juiz abanou a cabeça. — Vá em frente, Cotton. Lou tinha ido até o hospital no Hudson, com Eugene ao volante. Oz, no entanto, ficara em casa. O menino não queria mais nada com os tribunais e a justiça. A mulher de Buford Rose se dispusera a cuidar dele e de sua mãe. No hospital, Lou sentou-se numa cadeira, fitando Louisa, esperando que o pedido fizesse efeito. O quarto era frio, sem vida, de modo algum propenso a fazer alguém sentir-se bem. Não era porém com a medicina que Lou estava contando para fazer a mulher melhorar. Depositava suas esperanças na pilha de tijolos velhos no meio da relva de um prado e num maço de cartas que podiam muito bem ser as últimas palavras que recebera da mãe. Ela se levantou e caminhou até a janela. Dali podia ver o cineteatro, onde a longa temporada de O mágico de Oz ainda não se encerrara. Lou, no entanto, perdera seu querido Espantalho e o Leão Covarde já não tinha medo. E o Homem de Lata? Teria ele finalmente encontrado seu coração? Talvez jamais o tivesse perdido. Lou se virou, olhou para a bisavó e enrijeceu quando Louisa abriu os olhos e a contemplou. Houve uma forte impressão de reconhecimento, a suspeita de um sorriso de carinho e as esperanças de Lou levantaram vôo. Como se não apenas seus nomes, mas também seus espíritos fossem idênticos, uma lágrima escorreu pelos rostos das duas Louisas. Lou avançou, agarrou a mão de Louisa e a beijou. — Adoro você, Louisa — disse ela, o coração muito perto de parar, pois não se lembrava de haver dito antes aquelas palavras. A boca de Louisa se moveu, e embora Lou não conseguisse ouvir as palavras, pôde ver claramente nos lábios o que a mulher também estava dizendo: Adoro você,
Lou.
E então os olhos de Louisa lentamente se fecharam. Quando eles não tornaram a se abrir, Lou se perguntou se o milagre só iria até aquele ponto. — Sra. Lou, estão nos esperando no fórum. Ela se virou e viu Eugene parado na porta com olhos arregalados. — O Dr. Cotton vai chamar nós dois para prestar depoimento. Lou soltou lentamente a mão de Louisa, virou-se e saiu. Um minuto mais tarde, os olhos de Louisa se abriram mais uma vez. Ela olhou em volta da sala e por um momento sua expressão pareceu assustada. Logo, no entanto, a calma voltou. Louisa começou a se erguer na cama, a princípio confusa, sem entender por que seu lado esquerdo não estava cooperando. Conservou o olhar na janela enquanto lutava com força para se mexer. Centímetro por precioso centímetro ela progrediu, até que conseguiu ficar meio sentada, os olhos sempre pousados naquela janela. Louisa estava respirando ruidosamente agora, sua vontade e energia quase esgotadas após a breve luta. Ela, no entanto, se recostava no travesseiro e sorria. Do lado de fora da grande janela, a montanha estava agora francamente visível. Era uma paisagem belíssima para Louisa, mesmo que o inverno tivesse levado a maior parte do colorido. No próximo ano, tudo certamente ia voltar. Como sempre voltava. Era uma família que nunca ia realmente embora. Era o que a montanha representava. Os olhos, então, continuaram fitando os familiares afloramentos de pedra e de árvores, mesmo que Louisa Mae Cardinal parecesse ter ficado completamente imóvel. No salão do fórum, Cotton se pôs de pé na frente do juiz e anunciou em voz alta: — Chamo a Sra. Louisa Mae Cardinal. Uma arfada brotou da assistência. Nesse momento a porta se abriu e Lou e Eugene entraram. Miller e Goode recuperaram a expressão convencida quando viram que se tratava apenas da criança. Eugene sentou-se enquanto Lou se dirigia ao banco das testemunhas. Fred se aproximou. — Levante sua mão direita, ponha a esquerda sobre a Bíblia... Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade com a ajuda de Deus? — Juro — disse Lou em voz baixa, olhando ao redor, vendo todos os olhares pousados nela. Cotton deu um sorriso tranquilizador. Fora da visão da assistência, ele mostrou a Lou que seus dedos também estavam cruzados para trazer sorte. — O que tenho de lhe perguntar, Lou, vai ser doloroso, mas preciso que responda às minhas perguntas. Está bem? — Está bem. — Se lembra do dia em que Jimmy Skinner morreu? Você estava com ele, não é? Miller e Goode trocaram olhares meio espantados. Goode se levantou. — Meritíssimo, o que isto tem a ver com o que está em pauta? — O Estado concordou em deixar que eu expusesse minha teoria — disse Cotton. — Tudo bem — disse o juiz. — Mas procure não levar o dia inteiro. Cotton tornou a se virar para Lou. — Estava na entrada da mina quando houve a explosão? — Sim. — Pode nos descrever o que aconteceu? Lou engoliu em seco e seus olhos ficaram úmidos. — Eugene pôs a dinamite lá dentro e saiu. Ficamos todos esperando a explosão. Então Diamante... isto é, Jimmy correu para a mina atrás de Jeb, seu cachorro, que estava caçando um esquilo. Eugene tornou a entrar para pegar Jimmy. Eu estava parada na frente da boca da mina quando a dinamite explodiu.? — O estrondo foi grande? — Foi a coisa mais forte que já ouvi em toda a minha vida.
— Será que não foram duas explosões juntas? — Não, acho que não. — Ela parecia confusa. — Provavelmente não. E o que aconteceu depois? — Bem, uma grande nuvem de ar e fumaça saiu e me derrubou. — A coisa devia ter alguma força. — E tinha. Realmente tinha. — Obrigado, Lou. Sem mais perguntas. — Dr. Goode? — disse Atkins. — Sem perguntas, meritíssimo. Ao contrário do Dr. Longfellow, não vou desperdiçar o precioso tempo do júri com este contra-senso. — Chamo agora Eugene Randall — disse Cotton. Nervoso, Eugene se instalou no banco das testemunhas. Suas mãos amassavam com força o chapéu que ele ganhara de Lou. — Então, Eugêne, no dia em que Jimmy Skinner morreu você tinha ido pegar um pouco de carvão na mina, correto? — Sim, senhor. — Usa dinamite para extrair o carvão? — Sim, é o que faz a maioria das pessoas. O carvão faz um bom calor. Muito melhor que a madeira. — Quantas vezes calcula que tenha usado dinamite naquela mina? Eugene pensou um pouco. — Umas trinta vezes ou mais nos últimos anos. — Acho que isso o transforma num verdadeiro perito. Eugene sorriu ante o rótulo. — Acredito que sim. — Como exatamente você age quando usa dinamite? — Bem, coloco as bananas de dinamite num buraco na parede, descubro a ponta, desenrolo o pavio e acendo o pavio com a chama do meu lampião. — E depois? — Aquela galeria faz duas curvas. Às vezes, quando não estou usando muita dinamite, espero do outro lado das curvas. Às vezes saio. Estou começando a não suportar mais o barulho. E a poeira de carvão que voa é muito ruim. — Aposto que é. Na realidade, no dia em questão, você esperou do lado de fora. Certo? — Sim, senhor. — E de repente tornou a entrar para pegar o Jimmy, mas não conseguiu. — Não, senhor — respondeu Eugene olhando para o chão. — Parece que havia algum tempo que você não ia àquela mina. — Sim, senhor. Não ia lá desde o início do ano. O último inverno não tinha sido assim tão frio. — Tudo bem. Então, quando houve a explosão, onde você estava? — A uns trinta metros da saída. Pouco depois da primeira curva. Tenho uma perna ruim. Não posso andar mais rápido. — O que aconteceu quando houve a explosão? — Ela me jogou a três metros de distância. Bati na parede. Achei que tinha morrido, mas continuei segurando meu lampião. Nem sei como. — Meu Deus. Três metros? Um homem do seu tamanho? Se lembra onde colocou a carga de dinamite? — Nunca vou esquecer, Dr. Cotton. Foi depois da segunda curva. Há cem metros da entrada da mina. Há um bom veio de carvão ali. Cotton fingiu estar confuso. — Não estou entendendo uma coisa, Eugene. Você afirmou que de outras vezes estava dentro da mina quando a dinamite explodia. E não ficava ferido. E como é que agora, com você a uns setenta metros da carga de dinamite, atrás não apenas de uma mas de duas curvas da galeria, a explosão consegue jogá-lo três metros para cima? Se estivesse mais perto, provavelmente estaria morto. Como explica isso? Dessa vez era Eugene quem parecia desnorteado.
— Não sei explicar, Dr. Cotton. Mas foi o que aconteceu, juro. — Acredito em você. Mas ouviu Lou testemunhar que foi derrubada do lado de fora da mina. Agora me diga: quando você esperava do lado de fora da mina também era derrubado na hora da explosão? Antes de Cotton terminar a pergunta, Eugene respondia que não com um movimento de cabeça. — A dinamite que eu usava era muito pouca. Não dava nem um coice. O único objetivo era conseguir alguma coisa para colocar no balde. Uso mais dinamite no inverno, quando vou até a mina num trenó puxado pelas mulas, mas mesmo nessas ocasiões a coisa nunca saiu da mina daquele jeito. Deus, estamos falando de cem metros de distância e atrás de duas curvas. — Você achou o corpo de Jimmy? Havia pó e pedras em cima dele? Alguma parte da mina tinha desabado? — Não, não tinha. Mas vi que estava morto. Ele não tinha lampião, percebe? E sem luz, numa mina como aquela, o sujeito nunca sabe quando está entrando ou saindo. A mente engana a pessoa. Provavelmente Jimmy nem viu Jeb passar por ele em direção à saída. — Pode nos dizer exatamente onde encontrou o corpo de Jimmy? — A uns quarenta metros da entrada da mina. Depois da primeira curva, mas antes da segunda. Sentados lado a lado, empresário e advogado observavam o trabalho de Cotton. Batendo com os dedos no chapéu, Miller se inclinou para o lado e sussurrou no ouvido de Goode. Goode abanou a cabeça e olhou para Eugene. Depois sorriu e abanou de novo a cabeça. — Bem, vamos presumir — disse Cotton — que Jimmy estivesse próximo da carga de dinamite quando ela explodiu. Ela teria lhe dado um coice e tanto, não é? — Se ele estivesse perto, é claro que sim. — Mas seu corpo estava antes da segunda curva. Goode se levantou. — Isso é facilmente explicável. A explosão da dinamite pode ter atirado o corpo depois da curva. — Não consigo imaginar — disse Cotton olhando para o júri — como um corpo em vôo pode executar uma curva de noventa graus e ainda avançar um pouco mais antes de parar. A não ser que o Dr. Goode esteja sugerindo que Jimmy Skinner já estivesse acostumado a passar voando por aquele túnel. Ondas de riso flutuaram pelo salão de audiências. Atkins se recostou bruscamente na cadeira, mas não bateu o martelo para reprimir o barulho. — Continue, Cotton. Isso está ficando um tanto interessante. — Eugene, você se lembra de ter se sentido mal quando estava na mina naquele dia? Eugene pensou um pouco. — Difícil lembrar. Talvez um pouco de dor de cabeça. — OK, então, em sua opinião abalizada, só a explosão de dinamite não poderia ter feito o corpo de Jimmy Skinner parar onde parou? Eugene se virou para o júri e aproveitou para olhar um por um. — Não, senhor! — Obrigado, Eugene. Sem mais perguntas. Goode se aproximou, pôs as palmas das mãos no parapeito do banco de testemunhas e se inclinou para Eugene. — Rapaz, você mora com a Sra. Cardinal, não é? — Sim, senhor — disse Eugene se recostando um pouco, o olhar firme no homem. Goode se virou para o júri com um olhar incisivo. — Um homem de cor e uma mulher branca na mesma casa? Cotton estava de pé antes que Goode terminasse de falar.
— Juiz, não pode deixá-lo fazer isso! — Dr. Goode — disse Atkins —, vocês podem estar acostumados a fazer esse tipo de coisa em Richmond, mas não em minha corte. Se tem alguma pergunta a fazer referente a este caso, faça-a; caso contrário, vá se sentar! E da última vez que verifiquei, o nome dele era sr. Eugene Randall, não "rapaz". — Claro, meritíssimo, tem razão. — Goode limpou a garganta, deu um passo atrás e enfiou as mãos nos bolsos. — Então, senhor Eugene Randall, o senhor disse, em sua opinião abalizada, que o senhor estava a uns setenta metros da carga e que o senhor Skinner estava a cerca de metade dessa distância da dinamite. Está lembrado de dizer tudo isso? — Não, senhor. Eu disse que estava a uns trinta metros da saída da mina, ou seja, a uns setenta metros da carga de dinamite. Disse que tinha encontrado Diamante a uns quarenta metros da entrada da mina. O que significa que ele estava a uns sessenta metros de onde eu pus a dinamite. Eu não teria meios de dizer em que ponto exato ele foi atingido pela explosão. — Certo, certo. Agora me diga, já esteve na escola? — Não. — Nunca? — Não, senhor. — Então nunca aprendeu matemática, nunca fez contas de somar e subtrair. E no entanto está aqui sentado depondo sob juramento a respeito de distâncias exatas. — É. — Mas como podemos aceitar isto de um homem de cor, sem educação, como você? Alguém que nunca somou um mais um sob as vistas de um professor. Por que iria este bom júri acreditar em todos os números pomposos que está declamando aqui? O olhar de Eugene não se desviou da confiante fisionomia de Goode. — Sei lidar realmente bem com os números. Incluindo contas. É jogo rápido, dona Louisa me ensinou. E também sou bom com pregos e uma serra. Ajudei muita gente a construir celeiros na montanha. Para ser carpinteiro, a pessoa tem de entender os números. Se você cortar noventa centímetros de madeira para encher um espaço de um metro e vinte, do que exatamente vão lhe chamar? De novo os risos pairaram na sala e de novo Atkins deixou a coisa passar. — Ótimo — disse Goode. — Então, sabe cortar uma tábua. Mas estar nas curvas de uma mina, um lugar escuro como breu, é outra coisa. Como pode ter certeza do que disse a esta corte? Vamos lá, sr. Eugene Randall, nos conte. — Goode falara olhando para o júri, um sorriso dançando na boca. — Tenho certeza porque a coisa estava bem ali na parede — disse Eugene. Goode o encarou. — Não entendi. — Tinha marcado as paredes da mina com cal, de três em três metros, numa extensão de cento e vinte metros. Muita gente da serra faz isso. Se você vai explodir dinamite numa mina, é melhor saber qual é o caminho certo para sair de lá. Sei que bastou um erro meu para me causar este problema na perna. Além disso, com essas marcas eu nunca esqueço onde estão os bons veios de carvão. Se sair daqui agora e entrar naquela mina com um lampião, senhor advogado, vai ver que as marcas são claras como o dia. Por isso pode aceitar o que eu disse como a própria palavra do Senhor. Cotton olhou de relance para Goode. Era como se alguém tivesse dito àquele senhor que o céu não estava mais admitindo membros da Ordem dos Advogados. — Mais alguma pergunta? — Atkins perguntou a Goode. O homem não abriu a boca. Limitou-se a deslizar para sua mesa como uma nuvem errante e desabar na cadeira. — Sr. Randall — disse Atkins —, está dispensado, senhor, e a corte deseja lhe agradecer
por seu abalizado depoimento! Eugene se levantou e voltou para seu lugar. Do balcão, Lou notou que ele nem parecia mancar. Cotton, então, chamou Travis Barnes ao banco das testemunhas. — Dr. Barnes, a pedido meu o senhor examinou os registros referentes à morte de Jimmy Skinner, não foi? Incluindo uma fotografia tirada fora da mina. — Sim, é verdade. — Pode nos dizer qual foi a causa da morte? — Ferimentos graves na cabeça e no corpo. — Qual era o estado do corpo? — Parecia literalmente despedaçado. — Já tratou de alguém ferido numa explosão de dinamite? — Numa região mineira como a nossa? Claro que sim. — Ouviu o depoimento de Eugene. Em sua opinião, dadas as circunstâncias do acidente, poderia uma carga de dinamite ter causado os ferimentos que o senhor viu em Jimmy Skinner? Goode protestou, mas nem se preocupou em ficar de pé. — Está recorrendo a uma especulação da testemunha... disse com voz rouca. — Juiz, acho que o Dr. Barnes é perfeitamente competente para responder à pergunta como perito! — disse Cotton. Atkins já tinha abanado a cabeça. — Vá em frente, Travis. Travis olhou com desprezo para Goode. — Conheço bem o tipo de carga de dinamite que as pessoas daqui usam para conseguir um balde de carvão. Daquela distância da carga, e do outro lado de uma curva da galeria, era impossível que a dinamite provocasse os ferimentos que vi. Ninguém pode imaginar o estado em que aquele corpo ficou. — Bem — disse Cotton —, se a pessoa entra na mina no momento em que a dinamite explode, todos vão achar que ela morreu por isso. Alguma vez já tinha visto ferimentos como aqueles? — Sim. Numa explosão nas instalações de uma fábrica. Matou doze homens. Ficaram como Jimmy. Literalmente despedaçados. — Qual foi a causa dessa explosão? — Vazamento de gás natural. Cotton se virou e olhou firme para Hugh Miller. — Dr. Goode, a não ser que queira tentar alguma coisa com esta testemunha, chamo para depor o sr. Judd Wheeler. Goode olhou para Miller com um ar de frustração. — Nenhuma pergunta. Nervoso, Wheeler bateu com os dedos na bancada quando Cotton se aproximou. — É geólogo-chefe da Southern Valley? — Sou. — E chefiou a equipe que investigava a existência de possíveis depósitos de gás natural na propriedade da Sra. Cardinal? — Sim. — Sem a permissão ou o conhecimento dela? — Bem, eu não sabia que... — Tinha a permissão dela, sr. Wheeler? — bradou Cotton. — Não. — Encontraram gás natural, não foi? — É verdade.
— E isso era uma coisa em que sua empresa estava bastante interessada, certo? — Bem, o gás natural está se tornando muito valioso como combustível para aquecimento. Geralmente usamos gás manufaturado, gás local, como costumam chamar. É obtido do carvão aquecido. É o combustível, por exemplo, dos lampiões de rua desta cidade. Mas não se pode ganhar muito dinheiro com gás manufaturado. Agora, felizmente, temos gasodutos de aço, sem emendas. E eles nos permitem enviar gás natural para muito longe. Sim, claro, estamos muito interessados no gás natural. — O gás natural é explosivo, certo? — Se for devidamente usado... — É ou não é? — É. — Exatamente o que estavam fazendo naquela mina? — Fazíamos testes, leituras e conseguimos identificar o que parecia ser um enorme depósito de gás natural. Estava numa falha não muito longe do piso. A uns duzentos metros da entrada. Carvão, petróleo e gás são frequentemente encontrados num mesmo ponto, pois os três resultam de processos naturais similares. O gás é sempre encontrado em cima, porque é mais leve. Por isso é que se deve ter cuidado quando se está extraindo carvão. A ocorrência de gás metano constitui um verdadeiro perigo para os mineiros. De qualquer modo, perfuramos e atingimos aquele depósito de gás. — O gás chegou ao poço da mina? — Sim. — Em que data atingiram o depósito de gás? Quando Wheeler disse o dia, Cotton o repetiu em alto e bom som para o júri. — Uma semana antes da morte de Jimmy Skinner! Alguém sentiria o cheiro do gás? — Não. Em seu estado natural o gás não tem cor nem cheiro. Quando é processado, as empresas acrescentam um cheiro característico. Assim, se houver vazamento, as pessoas poderão detectá-lo antes que o ambiente fique impregnado. — Ou antes que alguma coisa o inflame. — É verdade. — Se alguém fizesse explodir uma carga de dinamite num poço de mina onde houvesse a presença de gás natural, o que aconteceria? — O gás ia explodir. — O próprio Wheeler lembrava alguém que quisesse explodir e sumir dali. — Acho — disse Cotton virando-se para o júri — que Eugene teve realmente muita sorte por estar longe do buraco onde o gás estava vazando e a chama de seu lampião não ter inflamado o gás. E deu ainda mais sorte por não riscar um fósforo para acender aquele pavio. Mas sem dúvida a dinamite explodindo estragou tudo. — Ele se virou para Wheeler. Como seria uma explosão de gás? Grande o bastante para provocar a morte de Jimmy Skinner da forma descrita pelo Dr. Barnes? — Sim — admitiu Wheeler. Cotton pôs as mãos no parapeito do banco de testemunhas e se inclinou sobre ele. — Em nenhum momento pensaram em colocar tabuletas advertindo as pessoas de que havia gás ali? — Não podia imaginar que iam colocar dinamite lá dentro! Não podia imaginar que iam fazer alguma coisa dentro daquela mina! Cotton achou que Wheeler atirara um olhar furioso para George Davis, mas não teve certeza. — No entanto, se algum descuidado entrasse, poderia ter problemas com o gás... Não seria bom ter colocado um aviso? Wheeler respondeu rápido. — O teto no poço daquela mina é muito alto e passa alguma
ventilação natural através da rocha. A concentração de metano ali não seria tão perigosa. E íamos tapar o buraco. Estávamos esperando a chegada do equipamento de que precisávamos. Não queríamos que ninguém se machucasse. Não tenha dúvida quanto a isso! — O fato é que não puseram placas de advertência, e não puseram porque estavam ilegalmente ali. É verdade ou não? — Eu só estava seguindo ordens. — E ficava difícil esconder o trabalho que andavam fazendo na mina, não é? — Bem, só trabalhávamos à noite. E não deixávamos nenhum equipamento lá. — Para que ninguém soubesse que tinham estado ali? — Sim. — Porque a Southern Valley esperava comprar o sítio da Sra. Cardinal por muito menos dinheiro se ela não soubesse que estava sentada num oceano de gás? — Protesto! — disse Goode. — Sr. Wheeler... — Cotton estava a pleno vapor —, o senhor soube que Jimmy Skinner morreu na explosão que aconteceu na mina. E certamente percebeu o papel desempenhado pelo gás. Por que não tomou a iniciativa de contar a verdade? — Me disseram para não fazer isto — respondeu Wheeler alisando o chapéu. — Quem disse? — O sr. Hugh Miller, vice-presidente da companhia. Todos na sala olharam para Miller. E foi também olhando para Miller que Cotton fez as perguntas seguintes. — Tem filhos, sr. Wheeler? Wheeler pareceu surpreso, mas respondeu: — Três. — Todos estão bem? Com saúde? O olhar de Wheeler caiu para o chão antes dele responder: — Sim. — É um homem de sorte. Goode se dirigia aos jurados em sua exposição final. — Tiveram provas de sobra para concluir que Louisa Mae Cardinal é mentalmente incapaz. Na realidade, seu próprio advogado, Dr. Longfellow, admitiu este fato. Vejam bem, toda essa conversa sobre gás, explosões e coisas do gênero nada tem a ver com o caso. E se a Southern Valley esteve de alguma forma envolvida na morte do sr. Skinner, seus descendentes poderão ter direito a uma indenização. — Ele não tem descendentes — disse Cotton, mas Goode preferiu ignorá-lo. — O Dr. Longfellow pergunta se meu cliente é parceiro adequado para estar comprando terras aqui. O fato, pessoal, é que a Southern Valley tem grandes planos para esta cidade. Bons empregos, trazendo de volta a prosperidade para todos vocês. — Chegou bem perto do júri, como se falasse no ouvido de seus amigos do peito. — A questão que se coloca é a seguinte: devemos permitir ou não que a Southern Valley enriqueça suas vidas e a vida da Sra. Cardinal? A resposta me parece de todo evidente. Goode se sentou. E Cotton se aproximou do júri. Caminhou devagar, uma atitude confiante, ainda que não ameaçadora. com as mãos nos bolsos, pousou um dos maltratados sapatos na trave de metal sob a bancada do júri. Quando falou, o sotaque era mais do Sul que da Nova Inglaterra e cada jurado, com exceção de George Davis, se inclinou para não perder nada do que ele dissesse. Já tinham visto Cotton Longfellow derrubar a crista de Goode, supostamente um dos melhores advogados da grande cidade de Richmond. E também humilhar uma empresa que estava se
transformando num domínio monárquico, pelo menos até onde isso era possível num país democrático. Sem a menor dúvida, queriam agora ver o homem terminar o trabalho. — Primeiro, pessoal, quero transmitir a vocês o aspecto legal do caso. Que não é absolutamente complicado. Na realidade é como um bom cão de caça. Ele aponta numa direção, só e unicamente nessa direção. — Tirou uma das mãos do bolso e, como um bom sabujo, falou apontando claramente para Hugh Miller. — As ações imprudentes da Southern Valley mataram Jimmy Skinner, não tenham dúvidas a esse respeito. A própria Southern Valley não o contesta. Estavam ilegalmente na propriedade de Louisa Mae. Não colocaram placas advertindo que a mina se enchera de gás explosivo. Isso fez com que pessoas inocentes entrassem num túnel cujo ar eles sabiam que era mortal. Podia ter acontecido a qualquer um de vocês. Não tiveram o brio de dizer a verdade, pois sabiam que estavam errados. E agora procuram usar a tragédia do ataque cardíaco de Louisa Mae para tirar sua terra. A lei diz claramente que não podemos nos beneficiar do que fizemos de errado. Bem, se o que a Southern Valley fez não se qualifica como erro, então nada nesta terra é errado. — Até este ponto ele estava falando devagar, num ritmo contínuo. Agora sua voz subira um pequeno ponto, mas o dedo começaria a apontar para Hugh Miller. — Um dia Deus ajustará contas com quem matou um jovem inocente. Mas o trabalho dos senhores é fazer com que eles sejam punidos hoje. Cotton olhou para cada jurado, parando em George Davis; dirigiu-se diretamente a ele. — Agora vamos chegar à parte não legal deste negócio, pois acho que é o centro das dúvidas que vocês enfrentam. A Southern Valley entrou aqui sacudindo sacolas de dinheiro na nossa frente, dizendo que é a salvadora de toda a cidade. Mas foi a mesma coisa que o pessoal da madeira disse a vocês. Eles iam ficar aqui para sempre, estão lembrados? E de repente todos os acampamentos madeireiros foram montados sobre trilhos, certo? Por quanto tempo vocês concordarão em ser tratados como gente temporária! Onde estão os madeireiros agora? Da última vez que vi no mapa, o Kentucky não fazia parte do estado da Virginia. Ele estreitou os olhos para Miller e continuou: — As companhias de carvão disseram a mesma coisa a vocês, e o que elas fizeram? Vieram, pegaram o que queriam e deixaram montanhas furadas, famílias inteiras com os pulmões negros e sonhos transformados em pesadelos. Agora é a Southern Valley quem está cantando a mesma cantiga, só que com gás. É apenas mais um jogo, por conta do que ainda resta na montanha. Mais uma coisa para sugar sem deixar nenhuma sobra! Cotton se virou e se dirigiu a toda a audiência. — No fundo não se trata da Southern Valley, do carvão ou do gás. No fundo se trata de todos vocês. Eles podem cortar o topo daquela montanha com bastante facilidade, extrair o gás, instalar o incrível gasoduto de aço sem emendas e a coisa pode se prolongar por dez, quinze ou vinte anos. Mas depois tudo isso vai acabar. Vocês percebem, não? O gasoduto vai levar o gás para outros lugares, exatamente como os trens levaram o carvão e o rio levou as árvores. E qual é o sentido disto, vocês sabem? — Ele se demorou um pouco olhando ao redor da sala. — Vou lhes dizer qual é. O sentido é mostrar onde está a verdadeira prosperidade, pessoal. Pelo menos do modo como a Southern Valley a define. Todos sabem como funciona. Essas montanhas só servem para manter a prosperidade de seus bolsos cheios. Eles vêm até aqui e levam o que podem. "Dickens, na Virginia", Cotton continuou, "jamais será uma Nova York, e tenham certeza de que não há absolutamente nada de negativo nisso. Na realidade, já temos um número suficiente de grandes cidades ao lado de um número infelizmente cada vez menor de lugares como este. Vocês
jamais ficarão ricos trabalhando no sopé destas montanhas, mas acho que quem precisa de grande riqueza são as Southern Valleys do mundo, que tiram tudo da terra e não lhe devolvem nada. Querem salvadores de verdade! Olhem para vocês mesmos. Confiem um no outro. Façam como Louisa Mae tem feito sua vida inteira nesses montes. Lavradores vivem na dependência do tempo e da terra. Um ano perdem, outro ganham. Mas para eles, a montanha jamais se esgota, porque eles nunca arrancam a alma do que nela existe. E a recompensa que recebem é serem capazes de viver uma vida decente, honesta, pelo tempo que assim o quiserem, sem medo das pessoas que chegam com grandes promessas. Elas só pretendem juntar um barril de ouro pilhando os montes. Depois vão embora, quando isso aqui não render mais nada. No processo, vidas de inocentes serão destruídas." Ele apontou para Lou sentada no meio do salão. — Vejam, o pai dessa menina escreveu histórias maravilhosas sobre esta área, sobre os verdadeiros problemas da terra e das pessoas que nela vivem. Através de suas palavras, Jack Cardinal capacitou este lugar a viver para sempre. Exatamente como os montes. Ele teve uma instrutora exemplar, pois Louisa Mae Cardinal viveu a vida inteira do modo como todos nós devíamos viver. Ela ajudou muitos de vocês em algum momento de suas vidas e nunca pediu nada em troca. — Cotton olhou para Buford Rose e para alguns outros lavradores. — E vocês a ajudaram quando ela precisou. Talvez por já saberem que ela nunca venderia sua terra, pois aquele solo é tão parte de sua família quanto seus bisnetos, que até agora não sabem o que vai acontecer com eles. Não podem deixar a Southern Valley roubar a família dessa mulher. Aqui em cima, nos montes, o que as pessoas têm é a terra e a companhia uns dos outros. Isso é tudo. Pode não parecer grande coisa para os que não moram aqui ou para quem só procura destruir as rochas e as árvores, mas significa tudo para as pessoas que consideram essas montanhas como seu lar. Cotton continuou parado diante da bancada do júri e, embora sua voz não se elevasse e permanecesse calma, o grande salão parecia inadequado para conter suas palavras. — Vocês não têm de ser peritos em direito para chegar à decisão justa neste caso. Só precisam ter coração. Deixem Louisa Mae Cardinal conservar sua terra.
CAPÍTULO QUARENTA Da janela do quarto, Lou contemplava a grande extensão de terra que avançava vigorosamente pelos barrancos e desaparecia sob a vegetação nas encostas das montanhas, onde todas as folhas, excluindo as dos sempre-verdes, tinham caído. As árvores nuas ainda existiam em número suficiente para valer a pena contemplá-las, embora às vezes parecessem a Lou tristes lápides para milhares de árvores mortas, pobre grupo de sobreviventes para chorar as que tinham caído. — Você devia ter voltado, papai — disse ela para os montes que ele imortalizara com palavras e dos quais se afastara para o resto da vida. Ela voltara para o sítio com Eugene depois do júri ter se retirado para deliberar. Não queria estar lá quando o veredicto saísse. Cotton a informaria. Segundo ele, a coisa não devia demorar muito tempo. Cotton não disse se achava que isso era bom ou mau sinal, mas não parecia muito esperançoso. Agora só o que Lou podia fazer era esperar. E era difícil, pois tudo à sua volta podia acabar no dia seguinte, dependendo apenas do que um grupo de estranhos decidisse. Bem, um deles não era estranho; seria antes um inimigo mortal. Lou traçou com o dedo as iniciais do pai na escrivaninha. Sacrificara as cartas da mãe por um milagre que não acontecera, e se ressentia disso. Descendo a escada, parou no quarto de Louisa. Através da porta aberta viu a velha cama e a pequena penteadeira com uma bacia e um jarro. Era um quarto pequeno, onde havia pouca coisa, exatamente como havia pouca coisa na vida daquela mulher. Lou cobriu o rosto. Não era direito ficar espiando. Saiu correndo para fazer a comida na cozinha. Quando pegava uma panela, ouviu um barulho e se virou. Era Oz. Lou enxugou os olhos, pois ainda queria parecer forte diante dele. Mas enquanto procurava melhorar sua expressão, percebeu que não precisava se preocupar com o irmão. Alguma coisa tomara conta dele; não sabia o quê. Oz, no entanto, nunca tivera aquele ar. Sem uma palavra, o menino a segurou pela mão e levou-a pelo corredor. O júri, uma dúzia de homens da montanha e da cidade, voltou à sala de audiências. Cotton tinha esperanças de que pelo menos onze deles fizessem a coisa certa. Tinham passado muitas horas em deliberação, mais tempo do que Cotton acharia plausível. Cotton não sabia se isso era bom ou mau. O verdadeiro trunfo contra ele seria o desespero — um forte oponente, que podia com muita facilidade se apoderar de quem se matava todo dia no trabalho apenas para sobreviver ou de quem não via futuro num lugar onde tudo estava fechando e onde todos iam embora. Cotton odiaria os jurados se eles dessem veredicto contrário, mas isso podia perfeitamente acontecer. Bem, pelo menos a coisa logo estaria acabada. — O júri chegou a um veredicto? — perguntou Atkins. O primeiro jurado se levantou. Era um homem da cidade, humilde dono de uma venda, o corpo inchado de muita carne com batata e de pouco exercício com os braços e os ombros. — Sim, meritíssimo — disse ele em voz baixa. Praticamente ninguém deixara o salão desde que o júri fora encarregado pelo juiz de emitir o veredicto e dispensado para deliberar. Como se repentinamente tivessem ficado surdos, todos se inclinaram para a frente. — E qual foi? — Decidimos a favor da... Southern Valley. — O primeiro jurado olhou para o chão. Foi como se tivesse acabado de pronunciar uma sentença de morte contra um membro da própria família. O barulho irrompeu na sala — alguns aplaudiam, outros não. As próprias colunas pareceram oscilar com o peso da decisão coletiva de uma dúzia de homens. Hugh Miller e George Davis trocaram ligeiros acenos, as bocas se abrindo em sorrisos de vitória.
Cotton se recostou. O processo legal tivera sua vez; a única coisa ausente fora a justiça. Miller e Goode trocaram um aperto de mão. Miller quis se congratular com Wheeler, mas o homem se afastou com um evidente ar de repulsa. — Ordem, ordem no tribunal ou mandarei esvaziar a sala! — Atkins bateu várias vezes o martelo e as coisas se aquietaram. — O júri está dispensado. Obrigado pelo serviço dos senhores — concluiu ele num tom não muito gentil. De repente um homem entrou no salão, aproximou-se de Cotton e sussurrou alguma coisa em seu ouvido. O desespero de Cotton se tornou visivelmente mais intenso. — Meritíssimo — disse Goode —, agora só falta apontar alguém para representar os interesses da Sra. Cardinal e assumir a guarda das crianças. — Juiz, acabo de receber notícias que a corte precisa ouvir. — Cotton se levantou devagar, de cabeça baixa, a mão de alguém lhe segurando o braço. — Louisa Mae Cardinal faleceu. A barulheira tornou a irromper no salão e, desta vez, Atkins não tomou qualquer providência para contê-la. O sorriso de George Davis se ampliou. Ele se aproximou de Cotton. — Droga — disse Davis —, este dia está cada vez melhor. Por um instante, a mente de Cotton ficou branca, como se alguém lhe tivesse jogado uma bigorna na cabeça. Ele agarrou Davis pela camisa e chegou a pensar em despachá-lo com um único soco para o condado vizinho, mas se conteve e apenas o empurrou. Como uma pá empurrando um grande monte de esterco para tirá-lo do caminho. — Meritíssimo — disse Goode —, todos nós sem dúvida lamentamos saber da morte da Sra. Cardinal. Temos, no entanto, uma lista de pessoas bastante respeitáveis que podem representar essas belas crianças na venda da propriedade que acabou de passar para elas. — E espero que apodreça no inferno por isso! — gritou Cotton. Ele correu para a bancada, Goode atrás. O punho de Cotton bateu com tanta força na imponente mesa do juiz que Fred, o oficial de justiça, deu um nervoso passo à frente. — George Davis maculou todo o júri — bradou Cotton. Sei que tem os dólares da Southern Valley queimando no bolso! — Desista, Longfellow, você perdeu — disse Goode. Nenhum dos dois reparou nas portas do salão se abrindo. — Nunca, Goode. Nunca! — gritou Cotton. — Concordou em respeitar a decisão do júri! — Receio que ele tenha razão, Cotton — disse Atkins. Triunfante, Goode se virou para Miller e seus olhos quase não acreditaram no que estavam vendo. — Mas Henry — pedia Cotton —, por favor, as crianças... Deixe a guarda comigo. Eu... Atkins não estava mais prestando atenção a Cotton. Também ele abria a boca e arregalava os olhos para o salão. Cotton se virou devagar para o que Atkins estava olhando e chegou a sentir uma fraqueza nas pernas, como se estivesse vendo Deus atravessar aquela porta. Lou e Oz pararam diante de todos. Entre eles, apoiada quase somente nos dois, estava Amanda Cardinal. Lou não tirara os olhos da mãe desde o momento em que Oz a levara pelo corredor até o quarto, onde a vira deitada na cama de olhos bem abertos, as lágrimas correndo, os braços fracos finalmente se estendendo para os filhos, os lábios trêmulos desenhando um sorriso de júbilo.
E Cotton também não pôde desviar a cabeça. Ele, no entanto, ainda tinha um assunto pendente naquela corte. — Meritíssimo — disse com uma voz incerta, atônita —, gostaria de lhe apresentar Amanda Cardinal! A verdadeira e legítima detentora da guarda de seus filhos. O mar de gente agora silenciosa se abriu e Cotton pôde avançar lentamente na direção da mãe e dos filhos. As pernas dele pareciam trôpegas, como se tivessem esquecido os movimentos que deviam fazer. As lágrimas manchavam seu rosto. — Sra. Cardinal — ele começou —, meu nome é... Amanda estendeu a mão e tocou-lhe o ombro. O corpo dela parecia muito fraco, mas a cabeça estava bem alerta e, quando falou, o tom foi baixo mas claro. — Sei quem é o senhor, Dr. Longfellow. Estou acostumada a ouvi-lo.
HOJE A mulher alta caminhava por um pasto, onde o vento vergava o capim de haste azulada. Ao fundo, estendia-se o contorno das montanhas. Seu cabelo era grisalho e caía até a cintura. Segurando uma caneta e um bloco de papel, ela se sentou no chão e começou a escrever. Talvez tenha funcionado. Ou talvez tenha sido a fé inabalável de um menino. Ou talvez tudo tenha sido tão simples quanto uma menina dizer à mãe que a amava. O importante é que nossa mãe voltou para nós. No instante mesmo em que nossa amada Louisa Mae nos deixava. Só tivemos Louisa por um minuto, e por pouco não perdemos inteiramente o privilégio de conhecê-la. A mulher se levantou, avançou alguns passos e parou junto a duas lápides de granito com os nomes Cotton Longfellow e Amanda Cardinal Longfellow. Sentou-se e continuou a escrever. Minha mãe se casou com Cotton um ano mais tarde. Cotton adotou a mim e a Oz e consegui ter por ele e por mamãe a mesma dose de amor e admiração. Viveram juntos mais de quatro décadas, anos incríveis passados nesta montanha, e houve apenas uma semana de intervalo entre a morte de um e outro. Nunca vou me esquecer da grande generosidade de Cotton. E irei para meu próprio túmulo sabendo que minha mãe e eu aproveitamos ao máximo nossa segunda chance. Meu irmãozinho ganhou muitos centímetros a mais e desenvolveu ombros realmente largos. Num glorioso dia de outono, um arremesso de Oz Cardinal conquistou um World Series para os Yankees de Nova York. Agora ele é professor secundário, com uma bem merecida reputação de ajudar crianças tímidas a ter sucesso. E seu neto herdou aquele ursinho imortal. Há dias em que sinto muita saudade do tempo em que segurava pela mão aquele menininho, corria os dedos pelos seus cabelos e o confortava. Meu leão covarde. As crianças, no entanto, crescem e meu irmãozinho tornou-se um belo homem. A irmã está verdadeiramente orgulhosa dele. Eugene acabou tendo sua própria terra e sua própria família; ele ainda mora próximo de nós. Continua sendo um dos melhores amigos que tenho no mundo e, após seu depoimento naquele tribunal, tanto tempo atrás, nunca mais ouvi alguém se referir a ele como Diabo-Não. E eu? Bem, como meu pai, deixei a montanha. Mas ao contrário de Jack Cardinal, acabei voltando. Casei-me e criei uma família aqui nesta casa, uma casa que construí na terra que Louisa Mae nos deixou. Agora, todo verão, meus próprios netos vêm me visitar. Conto a eles da vida que levei aqui. Falo de Louisa Mae, de Cotton e de meu querido amigo Diamante Skinner. E falo também das outras pessoas que cruzaram por nossas vidas. Faço isso porque acho importante que fiquem sabendo de tudo que diz respeito à nossa família. À medida que os anos passavam, li um bom número de livros e, um dia, comecei a escrever o meu. Gostei muito de escrever o primeiro e escrevi mais catorze. Contei histórias de felicidade e falei de coisas assombrosas. Falei de dor e de medo. De sobrevivência e triunfo. Da terra e sua gente. Assim como fizera meu pai. E embora nunca tenha conseguido ser reconhecida como ele, a venda de meus livros tende a melhorar. Como meu pai escreveu, a coragem, a esperança e o espírito de alguém podem ser severamente postos à prova pelos azares da vida. Mas como aprendi nesta montanha da Virginia, será impossível uma pessoa sentir-se realmente só enquanto não perder a fé. Pertenço a este lugar. É um verdadeiro consolo saber que vou morrer no alto destas rochas. E não temo, de maneira alguma, a chegada de minha hora. Meu entusiasmo é de todo compreensível, claro, pois a vista daqui é realmente muito bonita.
David Baldacci
O melhor da literatura para todos os gostos e idades



















